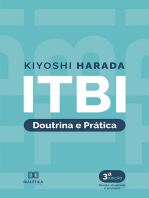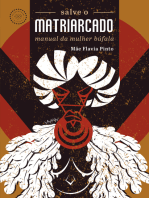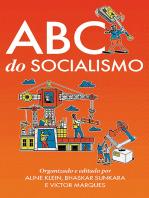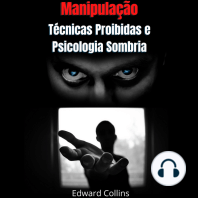Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
2013 KOSLER Andres El Conflicot Politico y La Autoridad Del Derecho
Enviado por
Jorge Leonardo MéndezTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
2013 KOSLER Andres El Conflicot Politico y La Autoridad Del Derecho
Enviado por
Jorge Leonardo MéndezDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Norma, moralidade
e interpretação:
temas de filosofia política e do direito
Norma, moralidade e interpretação... - 1
2 - Norma, moralidade e interpretação...
Alfredo Carlos Storck
Wladimir Barreto Lisboa
(orgs.)
Norma, moralidade
e interpretação:
temas de filosofia política e do direito
Porto Alegre, 2009
Norma, moralidade e interpretação... - 3
Capa:
Ana Rieger Schmidt sobre imagem de Dirk Wiemer
Produção Gráfica:
Exclamação - www.exclamacao.com
O presente trabalho foi realizado com apoio da CAPES,
entidade do Governo brasileiro voltada à formação de recursos humanos
CIP - BRASIL. CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO
BIBLIOTECÁRIA RESPONSÁVEL: Elaine Corrêa CRB - 10/1621
CIP - BRASIL. CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO
BIBLIOTECÁRIA RESPONSÁVEL: Elaine Corrêa CRB - 10/1621
N842 Norma, moralidade e interpretação : temas de filosofia
política e do direito / Alfredo Carlos Storck e
Wladimir Barreto Lisboa (organizadores). – Porto
Alegre : Linus, 2009.
289 p.
ISBN 978-85-60063-11-6
1. Filosofia do direito. 2. Filosofia política. I. Storck,
Alfredo Carlos. II. Lisboa, Wladimir Barreto. III. Título.
CDU 340.12
© Linus Editores Ltda.
Home page e vendas:
www.linuseditores.com.br
Contato: contato@linuseditores.com.br
© Linus Editores, Porto Alegre, RS. Brasil.
4 - Norma, moralidade e interpretação...
ÍNDICE
Apresentação .............................................................................. 7
Richard Ely, a liberdade de contratar e a decisão
Lochner ................................................................................ 9
Jean-Fabien Spitz
Entre a teoria da norma e a teoria da ação ........................... 43
José Reinaldo de Lima Lopes
Variações sobre o conceito de justiça. .................................... 79
João Carlos Brum Torres
A crítica de Carl Schmitt ao normativismo kelseniano .... 101
Jean François Kervégan
El conflicto político y la autoridad del derecho: la crítica
schmittiana al positivismo liberal .........................................115
Andrés Rosler
Despolitização e crítica social. Cinco teses ......................... 143
Alessandro Pinzani
As novas sofísticas jurídicas: Chaïm Perelman e
Stanley Fish ............................................................................ 165
Wladimir Barreto Lisboa
Hobbes e o poder fora do modelo jurídico da soberania ....191
Maria Isabel Limongi
Norma, moralidade e interpretação... - 5
Pluralismo e concepção do bem em Thomas Hobbes ...... 203
Luc Foisneau
Notas sobre Direito, Política e Religião em Kant............... 221
Daniel Tourinho Peres
Tradição religiosa e tradução política: sobre os deveres
de cidadania na esfera pública ............................................. 231
Luiz Bernardo Leite Araujo
O bem da ordem. O direito como condição da moral
em Tomás de Aquino ............................................................. 249
Luis Fernando Barzotto
O De Regno e a tradição dos Specula principum .................. 267
Alfredo Carlos Storck
6 - Norma, moralidade e interpretação...
Apresentação
A presente obra reúne alguns dos artigos apresentados
em dois colóquios realizados em outubro de 2009. O primeiro,
intitulado Colóquio de Filosofia Política e do Direito, ocorreu no
Departamento de Filosofia da UFRGS enquanto o segundo,
Encontro de Filosofia do Direito: II Colóquio Thomas Hobbes, ocor-
reu no Faculdade de Direito da UNISINOS. Dois artigos que
compõem essa coletânea não foram apresentados nos even-
tos: o de Jean-Fabien Spitz que, embora já tendo confirmado
sua participação, precisou cancelá-la em virtude do adiamen-
to dos colóquios provocado pelo surto da Gripe A no Brasil
em agosto passado, e o de Jean-François Kérvegan, que nos
autorizou gentilmente a tradução para essa publicação. Gos-
taríamos ainda de agradecer aos colegas que, por diversas ra-
zões, não puderam enviar suas contribuições, mas cuja parti-
cipação foi fundamental para o agradável clima de discussões
e trocas que marcaram os eventos.
Como o leitor irá constatar, decidimos realizar um traba-
lho de edição bastante limitado e não adotar uma formatação
uniforme para os artigos, preservando o modelo originalmen-
te enviado pelos autores. Evitando ao máximo a intervenção
nos textos, mesmo no que diz respeito aos diferentes padrões
de citação adotados, pretendemos preservar no livro um pou-
co da diversidade de estilos necessariamente presentes em
um colóquio de filosofia.
W. B. L. e A. C. S.
Norma, moralidade e interpretação... - 7
8 - Norma, moralidade e interpretação...
Richard Ely, a liberdade de contratar
e a decisão Lochner1
Jean-Fabien Spitz
Université de Paris I Panthéon Sorbonne
Institut Universitaire de France
No final do século XIX, todos os analistas da sociedade
moderna admitiam que uma das características dessa socieda-
de consistia em que o livre acordo entre as partes tendia cada
vez mais a substituir as relações determinadas ou exigidas pelo
status das pessoas. Essa verdade foi estabelecida, dentre ou-
tros, por Sumner Maine e Walter Bagehot. Entretanto, mesmo
os maiores partidários da liberdade de contratar entre pessoas
privadas admitem hoje que certos engajamentos voluntários
são incapazes de criar uma autêntica obrigação: que uma pes-
soa se comprometa a dar uma determinada quantidade de di-
nheiro a um chantagista para que ele interrompa suas ameaças
não cria, por exemplo, nenhuma obrigação, como também não
o cria um contrato firmado por um homem que está se afogan-
do e que promete dar seus bens a um terceiro desde que esse
último aceite deixá-lo subir em seu barco. Igualmente, se um
aprendiz pode comprometer-se por contrato a não exercer sua
profissão ao final de sua aprendizagem em uma determinada
região geográfica onde entraria em concorrência com aquele
que lhe proporcionou sua formação, um contrato através do
qual ele se comprometesse simplesmente a não exercer sua
profissão seria, ao contrário, absurdo e nulo. Segue-se daí, fi-
nalmente, que nenhum contrato através do qual um indivíduo
se comprometa a renunciar a sua liberdade pode criar qualquer
direito para aquele que dele se benificiaria.
1 Tradução de Wladimir Barreto Lisboa
Norma, moralidade e interpretação... - 9
Necessitamos, portanto, de um critério para distinguir
os contratos legítimos daqueles que não o são. A tese indi-
vidualista (da qual encontramos uma exposição perfeita nos
Elements of Politics, de Sidgwick) afirma que todo contrato –
isso é, toda troca de utilidades – deve ser considerada como
juridicamente válida se (a) ele é deliberadamente celebrado
entre pessoas que possuem maturidade e razão, se (b) foi ce-
lebrado sem o exercício de nenhuma coação, e (3) sem que
nenhuma das duas partes apresente deliberadamente os fatos
com falsidade ou de modo negligente. É preciso, além disso,
que os efeitos que o contrato visa produzir não violem uma lei
existente ou impliquem algum dano à comunidade que possa
ser reconhecido antecipadamente. Podemos supor, segundo
Sidgwick, que um contrato que respeite essas condições im-
plicará um crescimento de utilidade para as partes que o ce-
lebram, sem comportar qualquer dano àqueles que são parte
no contrato, e isso decorre “do princípio individualista geral
segundo o qual, normalmente, devemos confiar que um adul-
to com espírito saudável cuide de sua própria felicidade, na
condição de que seja protegido contra as interferências dos
outros”2.
Todavia, como reconhece Sidgwick, algumas condições
especificadas para a validade dos contratos são problemáti-
cas. Tal é o caso, primeiramente, da condição de não coerção.
É evidente que todo acordo no qual se recorre a uma forma
de coerção é ilegal e inválido, mas o que dizer do recurso a
formas de coerção legal? Por exemplo, A pode ameaçar B
de fazer ou a abster-se de fazer X ou Y caso esse úlitmo não
consinta em realizar um acordo que ele lhe propõe. Fazer ou
abster-se de fazer X ou Y é perfeitamente legal, mas A não
retira nenhuma vantagem de sua ação ou abstenção. Ele não
utiliza, portanto, a ameaça senão para pressionar B. É claro,
diz Sidgwick, que seria desejável impedir pressões desse tipo,
mas isso parece impossível sem atentar gravemente à liber-
2 Sidgwick, Elements of Politics, cap. VI, §.2
10 - Norma, moralidade e interpretação...
dade que os indivíduos têm de “declarar intenções que são,
nelas mesmas, perfeitamente inocentes” 3.
Poderíamos perguntar se A deve poder tirar proveito das
dificuldades nas quais se encontra B para impor-lhe um con-
trato particularmente desvantajoso. Poderíamos pensar que
tais contratos não são livres, mas se A não é responsável pela
dificuldade de B, e se não existe nenhuma obrigação legal de
ajudá-lo, tal impressão é certamente enganadora e o princípio
individualista leva-nos a afirmar a validade do engajamento,
na condição de que a situação de B melhore através do con-
trato. Ora, não podemos e não devemos julgar essa questão
senão nos referindo à vontade do contratante: se B aceita o ne-
gócio que lhe é proposto é porque julga ser proveitoso aceitá-
lo e que sua situação estaria pior se não o fizesse. O contrato
é, pois, válido4.
A propósito da segunda condição – nenhum contratante
deve apresentar os fatos de modo errôneo, deliberadamente
ou por negligência – Sidgwick sustenta que um contratante
não necessita trazer as informações que possui ao conheci-
mento da outra parte quando essa as ignora e quando tal ig-
norância pode induzi-la a um contrato muito desavantajoso.
É suficiente que o primeiro contratante não seja o resposável
pela ignorância do outro e que esse possua os meios de adqui-
rir as informações em questão. Se não o faz, sofrerá as conse-
quências5.
Quanto à última condição, sua primeira parte é evidente:
nenhum contrato pelo qual as partes se engajam a violar a lei
pode ser válido, e isso estende-se aos casos em que o ato es-
tipulado pelo contrato não é, ele próprio, ilegal, mas consitui
uma incitação a cometer um ato contrário à lei (como nos ca-
sos em que me engajo a dar uma certa quantidade de dinheito
3 Sidgwick, Elements of Politics, ibid.
4 Qualquer outra opinião, diz Sidgwick, obrigaria A a propor a B um contrato mais
vantajoso que aquele que aceitaria caso não houvesse nenhuma interferência; isso
significaria, nessas circunstâncias, negar que A não tenha tido nenhuma obrigação de
vir em ajuda a B.
5 Elements of politics, VI, § 3.
Norma, moralidade e interpretação... - 11
a X para que ele agrida um de meus inimigos). A segunda
parte da condição coloca um problema específico: a comuni-
dade poderia recusar avalisar ou reconhecer contratos em que
os efeitos fossem-lhe danosos. Parace tratar-se aqui justamen-
te de um modo de interferência nos contratos privados que
o individualismo condena. Mas Sidgwick propõe fazer uma
distinção entre as interferências diretas da comunidade para
seu próprio bem (onde os efeitos são quase sempre danosos) e
uma recusa de interferência (onde os efeitos não são tão dano-
sos): as partes privadas sabem que, em certos casos, o Estado
recusará validade e obrigatoriedade a alguns contratos quan-
do estimar que seus efeitos serão prejudicias ao bem estar ge-
ral. Trata-se um modo “suave” e pouco intrusivo – aceitável,
portanto, do ponto de vista individualista – de dissudiar con-
dutas prejudiciais à comunidade.
Essa teoria individualista, afirma Richard Ely, é constan-
temente aplicada pelos tribunais americanos. Eles fazem obje-
ções a tudo que lhes pareça diminuir o direito dos indivíduos
de contratar livremente e tendem a considerar que os acordos
coletivos (em matéria de direito do trabalho) obstaculizam o
direito a consentir a todas as condições que pareçam aceitá-
veis às partes contratantes, em particular o direito a aceitar
jornadas prolongadas de trabalho em troca de compensações
financeiras. Os tribunais fazem igualmente objeção a todo dis-
positivo tendente a abolir certas cláusulas dos contratos de
trabalho, opondo-se à tentativa de limitar pagamentos em es-
pécie que, todavia, reduzem a autonomia dos empregados.
Uma tal teoria parece a priori capaz de integrar as exce-
ções mencionadas acima: o caso da chantagem bem como o
daquele que se afoga significam, de fato, que os obstáculos
artificiais ou proveniente do contexto das relações ordinárias
entre os homens impedem ou falseiam a expressão da livre
vontade. Tal ocorre quando um dos contratantes está sob a
ameaça, como é o caso da chantagem ou do afogamento. Mas
no contexto em que todos esses artifícios estivessem ausentes
12 - Norma, moralidade e interpretação...
– e é atribuição do poder público garantir essa ausência – o
mero fato da vontade exprimir um acordo cria a obrigação
de respeitá-lo. A teoria individualista da obrigação contratual
apresenta-o como um encontro entre escolhas livres realizadas
por pessoas saudáveis de espírito, dotadas de capacidades in-
telectuais normais e, portanto, em condições de conhecer me-
lhor que ninguém as boas razões que elas possuem para agir e
o melhor modo de promover seus interesses. Uma vez que os
contratos respeitem essas condições, que eles não contenham
fraude, violência ou alguma outra forma de coerção visível e
aberta, o Estado não deve neles intervir.
A decisão da maioria da corte no caso Lochner consti-
tui um bom exemplo dessa teoria que Ely denomina de “um
individualismo ultrapassado”6. No caso Lochner, a decisão
da maioria da Suprema Corte – redigida pelo Juiz Rufus Pe-
ckham – afirma que a lei do Estado de Nova York, que limita
o número de horas trabalhadas na semana e durante o dia, in-
terfere no direito dos empregadores e empregados de celebra-
rem contratos nessa matéria. Tal direito de contratar no domí-
nio da atividade profissional privada faz parte integrante da
liberdade do indivíduo protegida pela 14ª emenda da Cons-
tituição dos Estados Unidos, a qual estabelece que ninguém
pode ser privado de sua vida, liberdade ou propriedade sem
o devido processo legal. Trata-se de saber, evidentemente, em
que consiste tal processo legal, mas podemos ver sem dificul-
dades que nele deve constatar a existência de circunstâncias
especiais que justifiquem que um dos direitos em questão seja
restrito ou limitado. Ora, tal restrição permitida ao Estado
graças ao seu poder de polícia, deve ser justificada por con-
siderações relativas à segurança, à saúde pública, à morali-
dade ou ao bem estar geral público. A Constituição admite,
portanto, que os indivíduos gozem de sua liberdade e de sua
6 Ely, R., Recent American socialism, Baltimore, 1885, p. 71: “An ethical demand of the
present age is a clearer perception of the duties of property, intelligence and social
position. It must be recognized that extreme individualism is immoral. Extreme indi-
vidualism is anarchy.”
Norma, moralidade e interpretação... - 13
propriedade no âmbito de condições razoáveis que o Estado
– guardião do bem-estar geral – pode vincular ao exercício
de tais direitos graças ao seu poder de polícia. Jamais esteve
nas intenções dos autores da décima quarta emenda impedir
o Estado de exercer suas funções as mais legítimas.
Segue-se daí, continua Peckham, que o Estado possui o
direito de impedir os indivíduos de celebrar contratos: por
exemplo, contratos cujos termos sejam contrários a uma lei
ou através dos quais determinadas pessoas comprometer-se-
iam a fazer de seus bens um uso contrário à moralidade. Tais
acordos encontram-se claramente fora de qualquer proteção
constitucional7. Mas não é menos verdade que esse poder de
limitar os engajamentos contratuais graças à invocação do po-
der de polícia não pode ser ilimitado, caso em que a décima
quarta emenda seria desprovida de toda eficácia e os legis-
ladores dos Estados disporiam de um poder sem limite para
restringir ou suprimir as liberdades individuais em todas as
circunstâncias: seria suficiente dizer que as leis promulgadas
eram necessárias à proteção da saúde, da moralidade ou da
segurança dos cidadãos, tornado-se o poder de polícia, escre-
ve Peckham, “um simples pretexto ou um nome enganador
7 Cf. H. Arkes, “Lochner v. New York and the case of our Laws” in R.P. George
(ed.), Great cases in constitutional Law (Princeton, 2000); David A. Bernstein, “Lochner
v. New York, A centenial Retrospective”, Washington University Law Quarterly, vol.
85, nº 5 (2005) p. 1469-1528, que sugere que a lei do Estado de Nova York poderia ser
vista não como uma lei destinada a proteger a saúde dos trabalhadores do setor das
padarias, mas como um dispositivo visando proteger os trabalhadores sindicalizados
contra a concorrência dos não sindicalizados. Ora, de modo constante, o judiciário
havia, após a guerra civil, condenado toda legislação tendente a favorecer um deter-
minado grupo através da invocação da cláusula da igual proteção. Essa era a primei-
ra reivindicação formulada por Lochner em relação ao dispositivo da lei que limitava
o número de horas de trabalho dos trabalhadores de padarias a dez horas diárias e à
sessenta horas semanais. O outro fundamento da demanda judicial era a utilização
abusiva do poder de polícia do Estado para interferir no direito fundamental de con-
tratar livremente. A idéia de base era, como veremos no argumento do juiz Peckham,
que a limitação da jornada de trabalho não poderia ser apresentada como um meio
necessário para alcançar um imperativo de saúde pública. Desse modo, a lei viola a
cláusula do devido processo, que apenas autoriza a restrição de direitos pelo poder
de polícia nos casos muito específicos em que essa restrição é indispensável para
alcançar um objetivo legítimo.
14 - Norma, moralidade e interpretação...
que o poder absolutamente soberano ao Estado teria de des-
vencilhar-se de todo limite constitucional”.
Convém procurar uma regra para resolver os conflitos en-
tre o direito do indivíduo e o direito do Estado a utilizar de
seu poder de polícia e indagar se, no caso da lei do Estado de
Nova York, estamos diante de um exercício justo e razoável
desse poder ou diante de uma interferência arbitrária e não
razoável nos direitos dos indivíduos a celebrar contratos li-
vremente8. Buscando tal critério de validade, a Suprema Corte
não pretende substituir o juízo do legislativo pelo seu próprio
quanto à questão de saber se tal ou tal lei é favorável ou não
ao interesse geral, à saúde ou à segurança dos cidadãos: tais
questões são claramente de competência do legislativo. Ao in-
vés disso, pertence ao judiciário estabelecer em quais casos o
Estado pode invocar um motivo dessa espécie para legislar e
em quais casos, ao contrário, ele não pode fazê-lo sem violar
os direitos garantidos pela Constituição. Não é suficiente que
o Estado invoque tais motivos para que o judiciário se incline.
Para encontrar essa regra, Peckham começa afastando a
idéia de que o Estado poderia interferir na liberdade de con-
tratar simplesmente sob o pretexto de que o acordo entre as
partes concernidas afetaria o bem-estar público ou a seguran-
ça de terceiros. Tratam-se de acordos exclusivamente priva-
dos que afetam apenas aqueles que o subscrevem e nos quais,
consequentemente, o Estado não possui nenhum interesse em
interferir. Que os trabalhadores padeiros trabalhem mais de
dez horas por dia, isso não afetará a qualidade do pão e o
público não sofrerá nenhuma perda. O único motivo que po-
deria conferir-lhe o direito de interferência seria se os engaja-
mentos em questão fossem nocivos à saúde dos contratantes.
O Estado não é o guardião de seus interesses materiais – acer-
8 Peckham: “Is this a fair, reasonable, and appropriate exercise of the police power
of the state, or is it an unreasonable, unnecessary and arbitrary interference with
the rights of the individual to his personal liberty, or to enter into those contracts in
relation to labor which may seem to him appropriate or necessary for the support of
himself and his family?”
Norma, moralidade e interpretação... - 15
ca disso, os indivíduos são os melhores juízes – mas ele é o
guardião de sua saúde na medida em que eles fazem parte do
conjunto dos cidadãos. A pergunta aqui é: possui fundamento
a invocação desse motivo? Pode o Estado interferir em um
contrato de trabalho sob o motivo de que a execução das cláu-
sulas estipuladas seria prejudicial à saúde de uma das partes?
Peckham observa que, no passado, a Suprema Corte va-
lidou o uso do poder de polícia em casos limites, e que ela
avalizou, em particular, uma lei do Estado de Utah que limi-
tava em oito horas o número de horas diárias trabalhadas nas
minas, ressalvados os casos de urgência em que a vida e a
propriedade estivessem expostas a um perigo iminente9. A lei
estende igualmente essa limitação às atividades de fundição
e a outras atividades de tratamento de minerais metálicos. De
fato, o motivo que levou a corte nesse caso a aceitar tais res-
trições da liberdade contratual dos empregadores e emprega-
dos foi que se tratava de atividades nas quais o período de
trabalho poderia representar uma séria ameaça à saúde dos
trabalhadores, o que justificaria a intervenção do Estado. Mas
ele acrescenta logo a seguir que o Estado não pode sustentar
a validade de uma lei apenas no fato de que ela teria um efei-
to benéfico sobre a saúde pública, pois isso daria ao Estado
um poder exorbitante permitindo-lhe ultrapassar todo limite
vinculado à preservação dos direitos individuais, dado que
lhe seria suficiente mencionar uma união, mesmo que tênue e
indireta, entre a legislação que pretende editar e a saúde pú-
blica10. A lei deve, desse modo, ter um efeito direto sobre a saú-
de. Ela deve não apenas mostrar-se como um meio em vista
9 Holden v. Hardy 169 U.S. 366 (1898).
10 Peckham: “It must, of course, be conceded that there is a limit to the valid exercise
of the police power by the state. There is no dispute concerning this general proposi-
tion. Otherwise the 14th Amendment would have no efficacy and the legislatures of
the states would have unbounded power, and it would be enough to say that any
piece of legislation was enacted to conserve the morals, the health, or the safety of
the people; such legislation would be valid, no matter how absolutely without foun-
dation the claim might be. The claim of the police power would be a mere pretext,-
become another and delusive name for the supreme sovereignty of the state to be
exercised free from constitutional restraint. This is not contended for.”
16 - Norma, moralidade e interpretação...
de alcançar esse objetivo, mas, sobretudo, ela deve aparecer
como um meio necessário e insubstituível. É sob tais condições
que o Estado tem o direito de interferir no exercício de um
direito garantido pela Constituição invocando seu poder de
polícia11.
No caso da lei do Estado de Nova York, parece difícil
admitir que essa condição esteja preenchida e, consequen-
temente, essa lei não pode ser considerada como um exercí-
cio normal do poder de polícia. Na realidade, uma condição
desse tipo não pode ser observada em indústrias em que,
como é o caso das padarias, a saúde dos trabalhadores não
está ameaçada pela duração da jornada ou da semana de tra-
balho: esse setor industrial, escreve Peckham “não é insalu-
bre a um nível que justificasse a intervenção do legislativo
no direito de trabalhar e no direito dos indivíduos de es-
tabelecer livremente contratos, sejam eles empregadores ou
empregados”12. Certamente nenhum médico recomendaria
trabalhar nesse setor para tratar a saúde, mas se aceitamos
tal argumento, vemos a que ponto isso daria ao Estado um
direito ilimitado – que se sobrepõe então a todas as garantias
constitucionais - de regulamentar os contratos de trabalho
tendo como único pretexto que tal regulamentação poderia
ser útil à saúde pública. Deve ser mostrado que uma ativida-
de profissional comporta bem mais que um simples risco ou
uma simples possibilidade de efeitos negativos sobre a saú-
de para justificar a intervenção de um legislador e a restrição
11 Peckham: “It is a question of which of two powers or rights shall prevail,-the
power of the state to legislate or the right of the individual to liberty of person and
freedom of contract. The mere assertion that the subject relates, though but in a re-
mote degree, to the public health, does not necessarily render the enactment valid.
The act must have a more direct relation, as a means to an end, and the end itself must
be appropriate and legitimate, before an act can be held to be valid which interferes
with the general right of an individual to be free in his person and in his power to
contract in relation to his own labor.”
12 Cf. Bernstein, artigo citado, p. 1495, a petição apresentada pelo requerente (Lo-
chner) continha estatísticas de mortalidade estabelecendo que a profissão de padeiro
não era mais perigosa para a saúde do que várias outras atividades que não eram
objeto de qualquer regulamentação das horas de trabalho.
Norma, moralidade e interpretação... - 17
da liberdade constitucionalmente garantida dos contratan-
tes13.
A decisão da Corte no caso Lochner é atualmente objeto
de uma ampla reprovação enquanto ilustração perfeita do re-
tardo com o qual, segundo a expressão de O. W. Holmes, os
juízes defendiam uma filosofia social inspirada em Spencer.
Voltaremos a esse ponto evocando os posicionamentos dis-
sidentes que suscitou. Observemos, entretanto, que alguns
analistas não se deram ao trabalho de reparar a que ponto
certo número de dispositivos legais pretensamente inspirados
pela preocupação de proteger os direitos dos trabalhadores
consistiam, na realidade, em medidas de proteção de grupos
determinados e em intervenções destinadas a dissuadir algu-
mas formas de concorrência. O caso é patente na legislação
do Estado da Califórnia que pretendia impor o não funciona-
mento de lavanderias durante a noite em razão dos riscos im-
portantes de incêndio, especificando, a seguir, que apenas as
lavanderias funcionando em prédios de madeira serão atingi-
das por tal medida. Ora, apenas as lavanderias de origem asi-
ática operam nesse tipo de prédio, o que permite suspeitar da
imparcialidade e das motivações da legislação considerada.
Certamente, essa dimensão não está ausente no caso Lochner,
na medida em que os trabalhadores de origem alemã eram
acusados de invadir o mercado e de trabalhar em quaisquer
condições, de abrir pequenas empresas que concorriam com
as firmas já estabelecidas e de pressionar, desse modo, as con-
dições de trabalho dos trabalhadores de tais firmas.
Quais são as críticas que Richard Ely endereça a essa te-
oria individualista do contrato que afirma ser, por um lado,
uma herança do século XVIII e não mais corresponder às
13 Peckham: “Some occupations are more healthy than others, but we think there
are none which might not come under the power of the legislature to supervise and
control the hours of working therein, if the mere fact that the occupation is not abso-
lutely and perfectly healthy is to confer that right upon the legislative department of
the government. It might be safely affirmed that almost all occupations more or less
affect the health. There must be more than the mere fact of the possible existence of
some small amount of unhealthiness to warrant legislative interference with liberty.”
18 - Norma, moralidade e interpretação...
exigências de desenvolvimento da sociedade moderna e, de
outro lado, que ao continuarem a aderir a tal decisão, os tribu-
nais americanos - em primeiro lugar a Suprema Corte – teste-
munham a que ponto a filosofia social dos juízes está atrasada
no tempo e a que ponto o ensino jurídico é defeituoso nos
Estados Unidos do final do século XIX?
Ely sustenta que para qualquer legislação – em particular
a que estabelece o direito de propriedade – a validade dos
engajamentos está subordinada a sua conformidade ao bem
geral, de modo que a obrigação não é a consequência de um
engajamento privado que o Estado teria por missão fazer res-
peitar, mas uma relação jurídica criada pelo poder público em
razão das vantagens que daí resultam. O contrato é, pois, uma
instituição estabelecida e mantida por objetivos sociais e, em
razão disso, todo engajamento que tenha efeitos socialmente
contrários a esses objetivos será nulo, pois virá de encontro às
razões pelas quais o respeito aos contratos é uma obrigação.
Evidentemente – e como no caso da propriedade – isso não
significa que a tese de Ely seja puramente convencionalista ou
positivista: a coletividade certamente não possui o direito de
fazer respeitar todos os pactos que contribuem para alcançar
seus próprios objetivos quaisquer que sejam, pois eles apenas
podem fundar uma obrigação se eles próprios estão em con-
formidade com os objetivos que toda coletividade organiza-
da deve fixar para pretender obrigar seus membros, a saber,
a promoção de seu bem estar e de sua liberdade. O Estado
pode, portanto, intervir nos termos dos contratos entre pes-
soas privadas para determinar quais são os que se encontram
em conformidade com o bem geral e quais lhes são contrários
e constituem um contrato não válido (mesmo que as partes
tenham livremente consentido). Por exemplo, os contratos
em que o empregador coage seus empregados a assumirem
a responsabilidade em caso de acidente advindo no domínio
da empresa não podem ser obrigatórios, uma vez que existe
um texto de lei que determina que os trabalhadores vítimas
Norma, moralidade e interpretação... - 19
de acidente de trabalho têm direito a serem indenizados. Se
sua renúncia a tal vantagem envolvesse apenas seu bem es-
tar, poderíamos admitir a validade do engajamento privado,
já que nada contrário à lei estaria estipulado. Mas a sociedade
como um todo tem um interesse superior a que os emprega-
dores preocupem-se com as condições de segurança em suas
empresas e tal objetivo não pode ser alcançado senão fazen-
do-lhes assumir a responsabilidade por tais acidentes – esse é
justamente o espírito da lei que concede indenizações às víti-
mas de acidentes de trabalho. Qualquer contrato válido que
permitisse aos empregadores de escapar da lei aumentaria
significativamente o número de acidentes. Ora, uma política
favorável ao interesse geral – a prevenção dos acidentes de
trabalho – não deve poder ser anulada por contratos privados
como seria o caso se a renúncia do empregador à responsabi-
lidade pudesse ser válida14.
Em suma, o contrato de trabalho encontra-se submetido
a condições particulares uma vez que, em contratos dessa
espécie, o trabalhador não vende uma mercadoria ordinária
que seria distinta dele próprio, mas ela é, digamos, uma parte
de sua própria pessoa. O empregador possui, pois, um poder
sobre funções vitais cuja aquisição é-lhe impossível, e tal ca-
racterística exige um controle específico e um freio ao abuso,
em particular em matéria de trabalho das mulheres e crianças,
mas também em matéria de duração da jornada de trabalho.
Ademais, como Ely e outros observaram diversas vezes, em-
pregador e empregado não dispõem dessa equivalência de
posição que tornaria o contrato e suas consequências equita-
tivas, uma vez que eles não dispõem de igual capacidade de
recusar ou não aderir ao contrato: o empregado é “coagido”
– apesar dos argumentos de Sidgwick – a proceder instanta-
neamente a uma venda de sua força de trabalho a qual não
poderá praticamente jamais postergar. A intervenção pública
deve, portanto, procurar garantir ao empregado e a sua famí-
14 Ely, R., Property and Contract, II, 618.
20 - Norma, moralidade e interpretação...
lia um seguro-desemprego que lhe permita não aceitar níveis
indecentes de salário bem como lhe garanta contra condições
de trabalho que têm por efeito degradar sua força de trabalho
ou diminuí-la prematuramente.
Como veremos na argumentação do juiz Harlan por oca-
sião do caso Lochner, alguns argumentos “individualistas”
tendiam a estabelecer que toda legislação limitando o contra-
to de trabalho e obrigando os empregadores a melhorar as
condições de trabalho é uma legislação “de classe” destinada
a favorecer um grupo social em detrimento de outro. Ela seria,
pois, contrária ao princípio constitucional que garante ao con-
junto dos cidadãos a “igual proteção das leis”. Mas, diz Ely, de
um modo ou de outro, toda legislação afeta certos grupos par-
ticulares e não outros, e é incontestável que a melhoria da con-
dição de alguns dentre eles pode e deve ser concebida como
favorável ao bem geral: é difícil pretender, por exemplo, que
uma legislação que protege as mulheres contra determinadas
condições de trabalho seja apenas favorável às mulheres. Am-
pliando o argumento, pode-se sustentar o mesmo raciocínio
para toda legislação social, na medida em que um certo resta-
belecimento do equilíbrio entre as partes contribui para uma
melhoria do tecido social. É preciso, como os juízes, abraçar
uma filosofia social particularmente obsoleta para pensar que
o bem social não é senão uma adição de vantagens particu-
lares e que a natureza das relações entre os indivíduos nada
conta para a saúde de uma sociedade. Mesmo um utilitarista
dogmático admitiria que uma repartição mais igualitária da
riqueza produz, em razão da própria lei da utilidade decres-
cente, um aumento da utilidade global e, assim, do bem estar
social.
É verdade que o contrato representa um progresso em re-
lação a uma situação na qual o vínculo entre os indivíduos
era ditado pelos seus respectivos status e não por suas von-
tades livremente expressas, mas essa verdade não pode ser
a última palavra na questão. Por que o contrato é preferível
Norma, moralidade e interpretação... - 21
ao status? Porque ele substitui a coação pela liberdade. Mas
precisamente, o livre contrato, tal como o compreendem os
individualistas, não garante o reino da liberdade? Tal não é
mais o caso nas condições modernas, pois hoje em dia, afirma
Ely, “temos uma igualdade jurídica associada a uma desigual-
dade de fato em razão da desigualdade das condições que
está colocada como pano de fundo dos contratos”15. Quando
os acordos entre pessoas juridicamente iguais, mas material-
mente desiguais estão excluídos de qualquer regulamentação,
a consequência é a prevalência de uma relação de força que,
então, está revestida de uma forma legal16. Para que o con-
trato seja autenticamente livre é preciso que a igualdade dos
contratantes preceda o próprio contrato e que este último não
seja a única forma de manifestação dessa igualdade. Ou seja,
é apenas sob tal condição que a consequência do contrato po-
derá ser uma forma de igualdade e não a institucionalização
de uma relação de força.
Essa conclusão repousa sobre uma tese dinâmica: no mo-
mento em que Adam Smith postula que um contrato apenas
é livre se nenhum obstáculo artificial nele interferir, ele esta-
belece como princípio que os homens são todos naturalmente
iguais, mesmo se ele não é tão radical sobre esse ponto como
alguns de seus contemporâneos. A seus olhos, é a igualdade
dos poderes naturais dos indivíduos que garante a valida-
de dos contratos e a equidade de seus resultados, e é preci-
samente na medida em que ele parte da idéia de igualdade
dos poderes naturais que toda desigualdade nas capacida-
des de pressão e de negociação aparecem-lhe como o efeito
de um artifício ou de uma legislação viciosa. Mas podemos
conjecturar que se Smith houvesse antecipado a formidável
diferença de poderes de pressão e de negociação que resul-
ta da evolução da sociedade moderna, ele não teria mantido
sua tese da não intervenção, pois ele teria compreendido que
15 Ely, R., Property and contract, II, 603.
16 Ely, R., French and german socialism in modern times, Londres 1883, p. 9
22 - Norma, moralidade e interpretação...
essa desigualdade é ela também um artifício produzido pela
legislação das sociedades modernas e que é conveniente re-
formá-las para restabelecer a realidade da igualdade. Nesse
sentido, devemos afirmar que existem, ao final do século XIX,
entre os indivíduos, consideráveis diferenças de situação e
de poder, que essas diferenças são um efeito da legislação ou
da estrutura jurídica, e que tratar igualmente os indivíduos
que são tornados desiguais pelo contexto no qual eles estão
colocados constitui uma forma de tratamento desigual e in-
justo. Os contratos celebrados entre partes com tal desigual-
dade recíproca sustentada pela estrutura jurídica em que se
encontram – que institui lugares e funções assimétricas – não
têm validade fundada sobre a igualdade à qual pretendem.
Um simples exemplo é suficiente para evidenciar esse ponto:
nos conflitos acerca da duração da jornada de trabalho, como
no caso Lochner, os empregadores podem sustentar diante
da Suprema Corte que seu direito a contratar livremente foi
violado, mas os empregados encontram-se privados da pos-
sibilidade de pretender o mesmo a propósito de seu direito a
uma jornada de trabalho de duração limitada, uma vez que
tal direito não se encontra inscrito na Constituição. Seria ao
menos curioso sugerir que, no caso Lochner, os direitos dos
empregados encontram-se violados no mesmo nível que os
dos empregadores pela lei que limita a jornada de trabalho17.
É o que pretendem os adversários da lei. Mas se assim é, por
que então apenas os empregadores queixam-se desse texto
legislativo e por que são eles os únicos a recorrer à Supre-
ma Corte? A assimetria jurídica é patente18. Ely fornece-nos
outro exemplo: suponhamos que um empregador faça seus
empregados assinarem um contrato estabelecendo que uma
parte de seus salários seja composta de vales utilizáveis ex-
clusivamente nas lojas da empresa que ele dirige, e que uma
lei venha a proibir tal procedimento19. O empregador recor-
17 Ely, R., Property and contract, II, 692.
18 Ely, R., Property and contract, II, 652.
19 S. Jevons, The State in relation to labour, op. cit. p. 7 menciona a antiguidade desse
Norma, moralidade e interpretação... - 23
re à Suprema Corte e obtém ganho de causa. As leis dessa
espécie são, portanto, declaradas estar em desconformidade
com a Constituição, uma vez que estão em contradição com
a liberdade de contratar. Novamente, vê-se toda a impostura
que haveria em pretender-se que a liberdade de contratar dos
empregados está protegida do mesmo modo que a dos em-
pregados mediante a decisão tomada. Certo, eles aceitam os
vales, mas isso justamente porque eles não são livres para de-
cidir o contrário, e a lei que interdita tal procedimento, nesse
sentido, confere-lhes uma liberdade que não desfrutavam na
situação anterior.
Ademais, a idéia de que, no caso Lochner, os trabalha-
dores padeiros seriam as primeiras vítimas da legislação li-
mitando a duração da jornada de trabalho nesse setor é uma
impostura, pois o fato de que o trabalho seja propriedade do
trabalhador não implica absolutamente que ele tenha o direito
de vendê-lo segundo as condições que lhe parecerem favorá-
veis. Trata-se, com efeito, de uma “propriedade” cujo uso está
limitado do mesmo modo que qualquer espécie de proprie-
dade da qual não é possível fazer um uso que seja contrário
ao interesse geral. Suponha-se, por exemplo, que aqueles que
assim o desejarem, tenham o direito de vender sua força de
trabalho a um preço bem inferior àquele fixado em conven-
ção coletiva e, sem horas-extras, durante um número de ho-
ras superior a duração legal do trabalho. Tal prática obrigaria
todos os demais a tomarem a mesma medida, de modo que a
condição de todos seria afetada negativamente pela escolha
de alguns. É pois legítimo proibir essa espécie de “contrato”.
Com o princípio da livre concorrência, o conjunto dos empre-
gadores encontra-se coagido, em matéria de salário e de con-
dições de trabalho, a descer ao nível daqueles que oferecem
as condições menos favoráveis. Produz-se, desse modo, uma
espécie de nivelamento moral por baixo, uma diminuição da
tipo de Truck acts na Inglaterra e ele os justifica indicando a que ponto os emprega-
dores abusariam, em caso contrário, da liberdade de fazer seus empregados assinar
contratos com cláusulas leoninas.
24 - Norma, moralidade e interpretação...
qualidade moral das relações entre os indivíduos. Pode-se
realmente chamar isso de liberdade?20 É esse fenômeno que
Ely denomina de “vigésimo homem” e do qual é indispensá-
vel tomar consciência antes de empreender-se uma reforma
qualquer das relações econômicas privadas. Eis o exemplo ao
qual recorre: o barbeiro esforça-se para fechar sua barbearia
aos domingos de modo a poder beneficiar-se de um dia de
folga, mas se em vinte barbeiros há apenas um que permanece
aberto aos domingos, os outros serão obrigados a fazer como
ele e sofrerão um constrangimento indevido21. Ao proibir tal
prática, o Estado não restringe a liberdade: ao contrário, ele
exerce uma coação justificada, uma vez que ele impede os in-
divíduos em questão de exercer, sem procuração nem consul-
ta, uma coação injustificada que reduz a liberdade de tercei-
ros22. O que diríamos, por exemplo, de um transportador que
chantageasse um produtor de mercadorias que não pudessem
aguardar por muito tempo para serem transportadas, e que
aproveitasse dessa situação para impor tarifas de transporte
absurdas? É claro que tais práticas devem ser proibidas, e se
diversas pessoas, em particular os juízes da Suprema Corte,
continuam a hesitar sobre a validade de tal conclusão, é por-
que não foram suficientemente preparados para perceber a
realidade do poder e das formas de coerção que existem na
esfera privada e fora das relações do Estado com os indiví-
duos23. Como afirma Ely, “a coerção exercida pelas forças
econômicas ainda não recebeu o reconhecimento exigido por
20 Cf. Henri Carter Adams, Relations of the State to industrial action (New York, Co-
lumbia University Press, 1954)
21 Ely, R., Socialism, its nature, op. cit., p. 317.
22 Cf. S. Jevons, The state in relation to labour, op. cit., p. 14; Jevons mostra correta-
mente que a complexidade crescente da vida social é necessariamente acompanhada
de uma regulamentação crescente, necessária para o desenvolvimento do espaço da
liberdade individual, de modo a permitir aos indivíduos agirem sem serem impedi-
dos direta ou indiretamente pelas atividades dos outros: “It is impossible, that we
can have the constant multiplication of institutions and instruments of civilization
which evolution is producing, without a growing complication of relations, and a
consequent growth of social regulations”.
23 Ely, R., Studies in the evolution of industrial society (Londres, 1903), p. 404-411.
Norma, moralidade e interpretação... - 25
uma filosofia do direito realista fundada na realidade da vida
econômica do século XIX”24, de modo que temos tendência a
nos conformar com uma alternativa simples: ou bem uma das
partes coage fisicamente a outra e (ou recorre a uma fraude
ilegal) ou bem o contrato deve ser tido como livre. A idéia de
que possa haver uma forma de coação que se exerce segundo
uma forma legal e com o apoio de leis parece de difícil com-
preensão. Todavia, vamos repetir, encontramo-nos no mesmo
tipo de situação – sob o impacto das evoluções sociais – que
aquela que havia provocado a afirmação “liberal” de Adam
Smith: uma legislação que favoreça certos setores da socieda-
de garantindo suas vantagens e as posições privilegiadas que
lhes possibilitem negociar em situação de força. O que pensar
daqueles que gozam de uma riqueza transmitida pela famí-
lia? Daqueles cujas rendas ou patrimônio são aumentados em
proporções consideráveis graças a evoluções das quais não
são absolutamente responsáveis? Daqueles que tiram provei-
to de uma situação de monopólio? Etc. Quando vemos quan-
tas formas de opressão são tornadas possíveis sob o manto da
proteção do “livre” contrato, compreendemos que esses fenô-
menos merecem bem o nome de novo feudalismo, aplicado
por certos socialistas franceses da primeira metade do século
XIX, e que os meios de contê-los são os mesmos que aqueles
utilizados para dissolver o antigo feudalismo: o combate sis-
temático a todos os pontos em que a legislação confere uma
vantagem indevida e um privilégio. Hoje em dia, afirma Ely, a
luta entre os indivíduos não se desenvolve mais abertamente,
mas pela exploração de situações assimétricas que os mais po-
derosos utilizam para impor legalmente contratos leoninos.
Eles não mais se contentam em explorar as situações de de-
pendência existentes, mas eles as criam e as agravam através
de contratos protegidos pela lei. Desse modo, o vendedor que
detém uma posição dominante pode impor ao comprador
24 Ely, R., Property And Contract In Their Relations To The Distribution Of Wealth. Kes-
singer Publishing, 2007, II, 655; cf. B. Fried, The Progressive Assault on Laissez Faire:
Robert Hale and the First Law and Economics Movement. Harvard University Press, 2001.
26 - Norma, moralidade e interpretação...
que assine um contrato através do qual esse último se engaje
a comprar certas quantidades de mercadoria, a não revendê-
las senão sob determinadas condições e a determinado preço,
etc. Os empregadores podem oferecer aos seus empregados,
como parte de seus salários, seguros-saúde que ele poderão
manter apenas se permanecerem no emprego, etc. Inúmeras
situações desiguais ou de dependência são assim estabeleci-
das através de contratos “livremente consentidos” cujo ca-
ráter obrigatório é, a seguir, constantemente reafirmado pe-
los tribunais. Se a liberdade de contratar deve ser a regra, é
preciso ainda que essa liberdade exista, e ela apenas pode ser
garantida pela igualdade dos contratantes do ponto de vista
do poder de negociação e de renúncia. Ora, essa igualdade
requer uma regulamentação que estabeleça regras equânimes
de concorrência. Ely segure que as regras do laissez faire que
promoveram a liberdade de contratar no século XVIII tinham
efetivamente por objeto, ao suprimir os privilégios legais, pro-
mover o bem estar geral da sociedade, mas que elas cessaram
de ter esse efeito benéfico sob as condições de um capitalismo
avançado. Elas devem, a partir de então, possuir um equiva-
lente funcional sob a forma de procedimentos de igualização
das situações, pois atualmente os meios de promover o bem
estar de todos não pode consistir em um conjunto de regras
que deixe os mais fracos à discricionariedade dos mais fortes
e que autorize os contratos a criar laços permanentes de ser-
vidão25. “Hoje em dia – escreve Ely – a proteção da vida e da
integridade das pessoas é garantida por regras que interferem
na liberdade de contratar”, do mesmo modo como, no século
XVIII, essa mesma proteção era garantida pela não interferên-
cia que permitia os poderes individuais de se manifestar. Mas
a evolução da economia moderna, sob o abrigo das regras de
não interferência, criou e perpetuou uma desigualdade de
poderes contra os quais é preciso lutar por novas formas de
interferência. A identidade do objetivo (o bem estar de todos)
25 Ely, R., Studies in the evolution of the industrial society (Londres,
1903).
Norma, moralidade e interpretação... - 27
requer, portanto, meios diferentes em circunstâncias diferen-
tes. Os individualistas “honestos” do final do século XIX têm
dificuldades de assimilar a idéia de que um mesmo instru-
mento – a ação da poder público – possa ser pensado segundo
aspectos tão contraditórios: opressivo em um caso, libertador
em outro. Mas isso se deve ao fato de que eles não compre-
endem que a dissolução dos privilégios feudais do antigo re-
gime é tanto uma ação pública como o será a extinção das
novas assimetrias que se criam ao abrigo dos princípios do
individualismo na sociedade moderna, e que, nos dois casos,
o resultado será o mesmo: o restabelecimento das condições
de uma relação igual entre as pessoas e a criação de condições
materiais de independência individual.
Tal restabelecimento é igualmente uma forma de reconci-
liação dos interesses sociais antagônicos no seio de uma sín-
tese moralmente superior ao confronto espontâneo. Os indi-
vidualistas pretendem – como Bastiat – que os interesses dos
diferentes grupos sociais harmonizem-se espontaneamente
e estejam naturalmente unidos uns aos outros. Mas, diz Ely,
todos aqueles que têm certo conhecimento do mundo dos ne-
gócios sabem que a parte do produto da colaboração entre
capital e trabalho que é efetivamente recebida pelo trabalho
diminui na medida em que o lucro do capital aumenta. Os
interesses em questão não podem ser reconciliados senão por
um esforço deliberado que, pela via da legislação, coage as
relações industriais e econômicas a situarem-se em um plano
moral mais elevado. Por exemplo, uma legislação sobre o fe-
chamento do comércio aos domingos impede aqueles que não
querem conceder a seus trabalhadores um dia de folga sema-
nal de forçar seus concorrentes a alinharem-se sob a mesma
prática social. Na medida em que existe uma legislação proi-
bindo um determinado comércio de funcionar sete dias por
semana, as relações entre patrões e empregados são reequili-
bradas e situadas em um nível moralmente mais elevado que
o anterior. É unicamente através de tal progresso que pode-
28 - Norma, moralidade e interpretação...
remos nos aproximar de uma economia na qual os interesses
antagônicos do capital e do trabalho estarão sob a via de uma
maior harmonização26.
Ely sugere assim que certo número de regulamentação
de atividades econômicas privadas não pode ser concebido
como da ordem da “interferência”: elas são destinadas a ele-
var o nível moral sobre o qual se desenvolvem as atividades
dos agentes privados sem visar nenhum grupo social em par-
ticular, indiferentes a sua vantagem ou desvantagem. Tal é o
caso, por exemplo, das regras que proíbem comercializar mer-
cadorias avariadas, que prevêem controle dos mercados, etc.
Elas não interditam nem dissuadem nenhuma forma de em-
preendimento, mas se satisfazem em dizer que ele não pode
ser conduzido senão no respeito aos dispositivos favoráveis
ao bem comum ou ao interesse geral. Como vimos no caso Lo-
chner, a acusação segundo a qual as intervenções legislativas
na economia tinham por função favorecer determinados gru-
pos em detrimento de outros era particularmente intensa no
caso da legislação trabalhista onde se podia suspeitar que o
trabalho organizado e os sindicatos empenhavam-se em pro-
mover uma legislação que favorecesse as empresas em que
estivessem presentes, em detrimento dos assalariados não or-
ganizados e das pequenas empresas. Mas Ely esclarece que os
salários e as condições de trabalho decentes para a classe dos
trabalhadores não podem ser concebidos como vantagens de
uma categoria: é o caso, em particular, das medidas que ins-
tituem comissões de arbitragem nos conflitos trabalhistas, da
legislação contra os acidentes de trabalho, das regras sanitá-
rias e, de um modo geral, de tudo aquilo que permita elevar o
nível de bem estar da população27.
Contrário ao individualismo herdado do século XVIII, so-
bretudo ao seu espírito, Ely afirma que, nas condições moder-
26 Ely, R.,The past and the present of political economy, p. 27-28
27 Ely, R., Socialism, its nature…., op cit., p. 321; Ely menciona igualmente a limitação
de duração da jornada de trabalho, diária e semanal, entre as medidas que podem ser
ditas de “ interesse geral”.
Norma, moralidade e interpretação... - 29
nas, as principais restrições ou ameaças à liberdade dos indi-
víduos não provêm do Estado, mas de potências privadas às
quais a lei do Estado concede uma proteção que lhes permite
impor às partes condições atentatórias à sua independência.
Afirmar, como o faz Ely, que o Estado é o órgão da liberda-
de, não significa dizer que ele deva intervir para transferir re-
cursos ou para apoiar diretamente as partes mais fracas, mas
sim que ele deve reformar a legislação de modo a que ela não
mais permita, aos detentores do poder, impor condições des-
favoráveis aos mais fracos. Esse é o próprio espírito de Adam
Smith, aos olhos de quem convinha combater a interferência
estatal uma vez que ela proporciona vantagens artificiais. Nas
condições modernas, seu postulado – a legislação não deve
dar nenhuma vantagem às partes, mas deixar livre a igualda-
de fundamental de poder – deve inclinar-se em favor de uma
interferência pública destinada a dissolver as vantagens arti-
ficiais indevidas autorizadas pela própria legislação na socie-
dade moderna: a herança, o monopólio, os lucros indevidos.
Citando o famoso texto de T. H. Green, Ely observa que
a liberdade de contratar apenas possui valor enquanto meio
em vista de um fim, e que esse fim consiste na liberdade em
seu sentido positivo, isso é, a igual liberdade de poderes do
conjunto dos homens em vista do bem comum. Ninguém tem
o direito de fazer o que quiser com aquilo que lhe pertence de
modo a entrar em contradição com sua finalidade28.
De todo modo, a liberdade de contratar não pode ser con-
siderada como um dogma intangível, e ninguém pode simu-
lar acreditar que apenas o engajamento voluntário das partes
seja suficiente para criar entre elas um vínculo jurídico que
o Estado estaria obrigado a fazer respeitar. Em suma, vê-se
com dificuldade, diz Ely, de que modo a obrigação poderia
derivar apenas da vontade, pois se a vontade fosse suficiente
para celebrar um contrato, ela deveria, do mesmo modo, ser
suficiente para dele sair, e bastaria querer desengajar-se de
28 T.H. Green, “Lecture on liberal legislation and freedom of contract”, Works, III;
Ely, R., Property and contract, II, 610.
30 - Norma, moralidade e interpretação...
uma obrigação assumida anteriormente para ter a referida fa-
culdade, uma vez que a vontade de rescindir o contrato seria
então uma expressão da liberdade do contratante tanto quan-
to sua vontade de a ele aderir29. Não se pode também susten-
tar que a obrigação contratual repouse no fato de que, sem
ela, a confiança entre os cidadãos seria impossível. O Estado
que faz respeitar os contratos não é responsável por instaurar
tal confiança entre pessoas privadas, e percebemos que se tal
fosse o caso, ele deveria igualmente respeitar os nua pacta – os
simples engajamentos – cuja violação, absolutamente legal,
tem por efeito solapar a mútua confiança: se me engajo, sem
outra formalidade, a emprestar uma determinada quantia de
dinheiro amanhã, a outra parte poderia acusar-me de falsida-
de caso não mantenha a promessa, mas o Estado nada tem a
ver com isso. Como explicar tal caso se a confiança está ligada
à obrigação?
Apenas a tese consequencialista resiste à crítica: a valida-
de de um contrato está fundada não na utilidade esperada
pelas partes, mas sobre o fato de que sua conclusão e seu res-
peito são vantajosos ao bem estar do conjunto da comunida-
de. Toda regulamentação que vise fazer com que os contratos
tenham exclusivamente essa espécie de consequência é legíti-
ma.
No voto dissidente para o caso Lochner, o juiz Harlan
opta por uma posição que coincide, em parte, com a de Ri-
chard Ely, sem se alinhar inteiramente com ela. Afirma ele que
a lei do Estado de Nova York é um exercício legítimo do poder
de polícia, isso é, que o Estado está autorizado a proceder à
limitação da jornada de trabalho na medida em que o objetivo
da saúde pública perseguido é absolutamente legítimo. Har-
lan reconhece que a lei constitui uma restrição da liberdade,
mas crê que tal restrição (a dos empregadores e empregados)
está justificada pelo interesse geral. Nessa questão, diz ele, o
Estado utiliza a justo título seu poder de polícia para impedir
29 Ely, R., Property and contract, II, 576.
Norma, moralidade e interpretação... - 31
determinados cidadãos de fazerem um uso danoso a tercei-
ros, e que, em todo caso, a décima quarta emenda não pode
ser concebida “de modo a obstaculizar o exercício do legítimo
poder que o Estado possui de promover a saúde, a paz, a mo-
ral, a educação e a boa ordem do povo.” 30
Harlan desenvolve, portanto, a idéia de que o judiciário
deveria fazer uma espécie de referência ao legislativo quando
ele tratasse de perseguir um objetivo de interesse geral e de
limitar, por essa razão, o exercício de direitos constitucionais.
Isso não autorizaria, entretanto, “regras que fossem totalmen-
te desarrazoados ou, por sua natureza, extravagantes”, de tal
modo que a propriedade e os direitos dos cidadãos seriam
objeto de uma interferência arbitrária e gratuita. Mas não é
menos verdade que é o legislativo quem deve julgar a oportu-
nidade das medidas indispensáveis ao interesse geral. Citan-
do uma decisão anterior, Harlan observa que “a posse e gozo
de todos os direitos encontra-se submetida a todas as condi-
ções razoáveis que a autoridade governamental do país julgar
essencial à segurança, saúde, boa ordem e à moralidade da
comunidade.” O direito de celebrar contratos não é, portanto,
absoluto, mas submete-se aos limites exigidos pela segurança
e bem estar do Estado. Ou, ainda, ele está submetido a todas
as regras que o poder público julgar razoável instituir com
vistas ao interesse comum e o bem estar da sociedade31.
30 Harlan escrevet que “o direito de contratar em relação às pessoas e aos bens ou
de negociar no interior de um Estado podem ser regulamentados e algumas vezes
suspensos quando os contratos ou negócios em questão conflitam com a política do
Estado tal como expressa nas leis”. Ele acrescenta que esse poder de polícia foi consi-
deravelmente aumentado em suas aplicações durante o século passado em razão do
aumento considerável do número de profissões perigosas ou cujo exercício prejudica
de tal mod a saúde dos empregados que exige que precauções particulares sejam
tomadas para sua proteção e bem-estar, assim como para a segurança dos respecti-
vos bens. (...) Ainda que essa corte tenha afirmado que o poder de polícia não pode
ser utilizado para excusar uma legislação injusta e opressiva, nosso direito permi-
te de a ele recorrer com o objetivo de preservar a saúde púvlica, a segurança ou a
moralidade, bem como para suprimir inconvenientes públicos. O legislativo possui
necessariamente um grande poder discricionário de decidir não apenas o que exige
o interesse público, mas igualmente quais são as medidas necessárias à proteção de
um tal interesse.”
31 Harlan: “Isso que denominamos de liberdade de contratar pode ser, em certos
32 - Norma, moralidade e interpretação...
Todavia, o judiciário tem o direito de dizer que algumas
regras excedem o poder do Estado e são, desse modo, ilegais.
O critério que ele deve usado é claro: para que uma lei seja in-
válida, é preciso que ela não tenha nenhuma relação “real ou
substancial” (real or substantial) com um imperativo legado ao
interesse geral, à saúde ou segurança públicas. Se existe uma
dúvida sobre esse ponto, ela deve sempre ser resolvida em fa-
vor da validade da lei, na medida em que é ao legislador que
pertence a responsabilidade de promover esses objetivos ge-
rais e a ele igualmente incumbe a responsabilidade por uma
legislação mal calculada ou imprudente. A regra proposta por
Harlan é, assim, ao mesmo tempo clara e marcada pela idéia
de reverência ao legislador: “se a finalidade que busca o le-
gislador faz parte daquelas às quais seu poder se aplica, e se
os meios apropriados para alcançar esse fim, mesmo que não
sejam os mais sábios ou os melhores, não são manifestamente
proibidos pela lei, então a Corte não pode interferir.”
Essas considerações são pertinentes no caso Lochner: a lei
do Estado de Nova York tem claramente por objetivo proteger
a saúde dos trabalhadores padeiros, e ela exprime, diz Harlan,
a crença do povo do Estado de Nova York de que uma jorna-
da de trabalho superior a dez horas e, na semana, superior a
sessenta, representa um perigo à saúde desses trabalhadores.
Não concerne à Corte dizer se essa opinião é verdadeira ou
falsa, pois no nosso sistema político, continua o juiz Harlan,
“os tribunais não têm que se pronunciar sobre a sabedoria de
uma política ou de uma legislação.” A única questão acerca
da qual eles têm que se pronunciar é sobre a relação entre o
fim e os meios e, nesse aspecto, parece claro que a limitação
da duração da jornada de trabalho possui uma relação “real
limites, submetida a regras destinadas e calculadas para promover o bem estar geral
ou para preservar a saúde, a moralidade ou segurança públicas. A liberdade garanti-
da pela Constituição dos Estados Unidos a qualquer pessoa que se encontre nos limi-
tes de sua jurisdição não comporta um direito absoluto de cada pessoa a ser, em todo
momento e em toda circunstância, inteiramente livre de qualquer constrangimento.
Existe, com efeito, múltiplas restrições às quais todas as pessoas estão necessariamen-
te submetidas em vista do bem comum.”
Norma, moralidade e interpretação... - 33
e substancial” com a saúde dos trabalhadores32. Não seria ra-
zoável pretender que a limitação da jornada de trabalho não
tenha relação real com as considerações sobre a saúde, mas
isso seria o caso se considerássemos que a legislação não deve
considerar que uma jornada de trabalho de mais de dez horas,
nas condições efetivas das padarias, é prejudicial à saúde. Fiel
a sua posição, Harlan distingue duas questões: seria verdade
que uma jornada de trabalho excedendo dez horas é prejudi-
cial à saúde dos trabalhadores? O judiciário não deve se pro-
nunciar sobre essa questão que concerne única e exclusiva-
mente o legislativo. Pode a limitação da jornada de trabalho
razoavelmente aparecer como um meio de melhorar a saúde
dos trabalhadores das padarias? Sobre essa segunda questão
– a única com a qual o judiciário deve se preocupar – a respos-
ta apenas pode ser positiva, na condição de que compreenda-
mos bem que uma determinada posição pode ser razoável,
mesmo sendo falsa33. Consequentemente, qualquer invalida-
ção da lei terá como efeito não apenas a extensão do propósito
da décima quarta emenda para além de sua intenção primei-
ra – que não consistia em obstaculizar toda ação do Estado
em favor do interesse geral, na medida em que esta última
acarretasse uma restrição dos direitos individuais garantidos
pela Constituição – mas igualmente conduziria o judiciário
a usurpar uma das funções do legislativo ao pronunciar-se
sobre uma questão – a eficácia dos meios quando se constata
que eles se encontram em relação como a finalidade buscada –
32 Harlan: “Quando empreendemos essa investigação [acerca dos fins e dos meios],
parece-me impossível, em relação à experiência comum, sustentar que não existe
aqui nenhuma relação real e substancial entre os meios empregados pelo Estado e o
fim que ele busca alcançar através dessa legislação.”
33 O judiciário deve, pois, ocupar-se de saber se a legislação proposta pelo Estado
é um meio plausível para uma finalidade legitimada. A partir do momento em que
reconheceu-se que a saúde pública é um objetivo legítimo e que a limitação da jorna-
da de trabalho é um meio possível para alcançá-la, a questão de saber se esse meio é
eficaz não mais se põe. Em troca, Harlan evita responder a questão de saber se não
existem outros meios igualmente eficazes para a promoção do mesmo objetivo e que
não implicariam em nenhuma restrição do direito de contratar livremente. Implicita-
mente ele supõe que não existam.
34 - Norma, moralidade e interpretação...
que diz respeito à competência exclusiva da instância política
do legislativo34.
Mas, no caso Lochner, a posição mais radical é a assumida
por O. W. Holmes em seu próprio voto dissidente. Holmes
inicia observando que a decisão da Corte inspirou-se em uma
teoria econômica – a de Spencer e dos arqui-individualistas
– com a qual grande parte dos cidadãos americanos não con-
cordavam. A questão posta a um juiz da Suprema Corte, en-
tretanto, não é a de saber se ele compartilha essa teoria indi-
vidualista ou não, se ele a toma como bem ou mal fundada,
pois, de todo modo, não concerne aos juízes fazer prevalecer
sua própria opinião quanto à validade de uma teoria desse
gênero contra a opinião da maioria dos cidadãos, e inúmeras
decisões da Corte atestam que o legislador – enquanto repre-
sentante da maioria – tem o direito de legislar a vida dos in-
divíduos através de medidas que os juízes podem considerar
pouco judiciosas ou mesmo, como no caso da lei do Estado
de Nova York regulamentando a jornada de trabalho dos
padeiros, tirânicas. A tarefa da Corte não consiste, portanto,
em dizer se ela aprova a teoria econômica contida no texto
da lei nem em opor sua própria teoria àquela do legislador.
Caso contrário, teríamos dificuldade em compreender de que
modo e por que a teoria individualista, isso é, a “liberdade”
dos indivíduos de fazerem tudo o que quiserem desde que
não interfiram com o direito dos demais de agirem como eles
mesmos o fazem, pode ser constantemente violada por um
número incalculável de textos legislativos e por instituições
públicas cuja validade foi admitida pelos juízes mesmo que
divididos acerca da oportunidade e da validade dessas medi-
34 Harlan: “Uma tal decisão prejudicaria seriamente o poder essencial dos Estados
de preservar a vida, a saúde e o bem estar de seus cidadãos. É possível que a le-
gislação em litígio comporte incovenientes, mas, diz Harlan, “nenhum dos inconve-
nientes resultante dessa legislação seria maior que aqueles que poderiam representar
para nosso sistema de governo o fato de o judiciário, negligenciando a esfera que
lhe é atribuída pela nossa lei fundamental, intrometer-se no domínio da legislação e,
fundando-se apenas em considerações de justiça, de razão ou sabedoria, e anular leis
que receberam a aprovação dos representantes do povo”
Norma, moralidade e interpretação... - 35
das e instituições. Mas a questão não é essa, pois a Constitui-
ção dos Estados Unidos não pressupõe uma teoria econômica.
Ela é destinada a reger a vida de um povo cujas opiniões sobre
a matéria são diversas e opostas umas às outras. Não se trata,
portanto, de dizer qual é a opinião válida, mas, de duas opini-
ões opostas, qual deve se impor.
Em sua extrema concisão, o texto de Holmes ressalta um
elemento chave: não existe um sentido óbvio para a palavra
“liberdade” e toda tentativa de afirmar que determinadas
opiniões constituem o verdadeiro sentido dessa palavra ou
correspondem à intenção original daqueles que a inscreve-
ram na Constituição é vã, pois a interpretação é inevitável.
Seria, portanto, absurdo negar que lidamos com concepções
alternativas de liberdade, do mesmo modo que seria absur-
do pretender que a tarefa dos juízes consiste em decidir entre
interpretações rivais em nome de uma acepção da palavra li-
berdade que não fosse ela própria uma interpretação apoiada
em uma das teorias econômicas em questão. Toda tentativa da
Corte para pronunciar-se desse modo – como pretende fazer a
maioria através da voz do juiz Peckman – é, na realidade, uma
tentativa de fazer passar uma interpretação específica por
uma interpretação neutra suscetível de ser erigida em juiz.
Mas, precisamente, o juiz não pode ser simultaneamente juiz
e parte. O uso da palavra “liberdade” é, portanto, perverti-
do, escreve Holmes, quando a utilizamos para obstaculizar as
consequências naturais de uma opinião que se tornou majori-
tária ou dominante. Consequentemente, se a interpretação da
liberdade que prevalece no povo e no legislador implica que
os indivíduos devem gozar de uma liberdade substancial de
explorar suas potencialidades, e que isso, por sua vez, impli-
ca condições de trabalho que não condenem a uma existência
precária, vulnerável e incapaz de desenvolvimento pessoal
aqueles que delas são vítimas, então se vê com dificuldade
de que modo os juízes teriam o direito de se opor às conse-
quências de tal interpretação em nome de sua própria visão
36 - Norma, moralidade e interpretação...
individualista que concebe a liberdade como o direito de fazer
tudo o que quisermos desde que não recorramos à violência
ou à fraude explícita. O único fundamento sobre o qual os juí-
zes poderiam banir uma interpretação da liberdade e impedir
que se traduza em consequências legislativas seria exibindo
sua incompatibilidade com o conjunto dos “princípios fun-
damentais da Constituição americana tais como foram com-
preendidos por nosso povo e nosso direito”. Mas quem teria
a audácia de sustentar que a acepção positiva da liberdade
enquanto gozo das condições contextuais permitindo a cada
um desenvolver suas potencialidades é estranha à tradição
americana e que ela não é uma interpretação plausível, à luz
da tradição política americana, do conceito de liberdade? Não
é necessário realizar uma investigação aprofundada, conclui
Holmes, “para mostrar que é impossível pronunciar uma con-
denação tão geral do texto de lei que nos é submetido”.
Como vemos, a opinião de Holmes difere substancial-
mente daquela de Harlan: esse aceita a definição individualis-
ta da liberdade, mas mostra que o Estado tem o direito de ex-
cepcionar essa liberdade em nome das exigências de interesse
geral (como a saúde pública). Holmes não rejeita a definição
individualista, mas denuncia a falsa impressão de neutralida-
de que ela produz: na realidade, ela não é senão uma inter-
pretação dentre outras, não sendo nem mesmo a interpretação
dominante, pois o povo americano prefere hoje em dia uma
acepção mais substancial que acentua a igualdade de condi-
ções de realização pessoal e o controle das condições permi-
tindo a certas pessoas exercerem, com o apoio do Estado, um
poder de dominação sobre outras e submeter-lhes a uma certa
vulnerabilidade. Seria isso uma razão suficiente para admitir
que o povo possa fazer prevalecer tal opinião que é atualmen-
te e de forma majoritária a sua? Certamente não.
A posição de Richard Ely é, entretanto, distinta daque-
la de Holmes, em particular por ele ter uma visão diferente
dos respectivos papéis do legislativo e do judiciário na evolu-
Norma, moralidade e interpretação... - 37
ção social. Avalizando a definição positiva de liberdade – não
no sentido de Berlin, mas no de Green, isso é, enquanto poder
efetivo, para um indivíduo, de desenvolver suas potenciali-
dades sem sofrer de modo desigual os efeitos restritivos em
um contexto desfavorável – Ely mostra que é essa liberdade
a que aspiram os trabalhadores das padarias e que ela é intei-
ramente oposta àquela que a Corte Suprema queria atribuir-
lhes. Mas ele admite que esse sentido não está diretamente
inscrito no texto da Constituição e que dela não decorre, por
consequência natural, tal como é igualmente o caso da inter-
pretação individualista.
Não se diz muita coisa quando se afirma que o con-
gresso não tem o direito de atentar às liberdades dos indiví-
duos, pois a interpretação dos direitos inscritos na Constitui-
ção não possui qualquer evidência: “A interpretação, escreve
Ely, é uma coisa que deve mudar à medida que a filosofia eco-
nômica se modifica e que a civilização avança. Alguém deve
interpretar as expressões contidas na Constituição”. Alguns
críticos do papel excessivo do judiciário sustentam que cabe
ao legislativo, que está em contanto permanente com o povo e
que dele decorre, ser o intérprete daquilo que significa a liber-
dade aos olhos do povo, e não à Suprema Corte, que se encon-
tra afastada desse mesmo povo. Considerar os juízes como
infalíveis e afirmar que sua opinião deve sempre prevalecer
sobre a do legislativo consiste, segundo eles, em perverter o
espírito da Constituição que quis que os diferentes poderes
que ela organizou fossem coordenados e não subordinados
um ao outro35. Ely não compartilha essa visão excessivamente
otimista das qualidades do legislativo, pois ele tem consciên-
cia de que haveria, por exemplo, razões para temer “o capri-
cho e a fantasia” da vontade popular caso ela tivesse o poder
de revogar os juízes ou de decidir sem apelo nem controle36.
A história ensina-nos, portanto, que é desejável que os juí-
zes sejam independentes das flutuações da opinião pública.
35 Ely, R., Property and contract, II, 687.
36 Ely, R., Property and contract, II, 696.
38 - Norma, moralidade e interpretação...
Ensina-nos igualmente que alguns dos avanços mais úteis à
liberdade e ao interesse geral foram realizados por dirigentes
que, na ocasião, a opinião pública desaprovava fortemente.
Apesar de algumas decisões muito infelizes, dentre as quais
Ely elenca Dred Scott e Lochner, a Corte bem trabalhou para o
progresso.
Um judiciário independente capaz de manter um prin-
cípio, em determinadas circunstâncias, contra a vontade da
maioria, não é algo ruim, na condição de permanecer atento
ao fato de que os juízes não são infalíveis e que a Constituição
coordena com certa facilidade os três poderes sem subordiná-
los uns aos outros. Deve-se, do mesmo modo, preocupar em
selecionar os juízes informados das realidades econômicas de
seu tempo e cujos princípios de filosofia social não sejam de
um tempo ultrapassado. É absurdo, afirma Ely, eleger um pre-
sidente e um congresso para operacionalizar certa política, ao
mesmo tempo em que se mantêm dispositivos institucionais
de seleção dos membros da Suprema Corte que asseguram
que esses últimos aderirão quase necessariamente a uma fi-
losofia social que os conduzirá a uma oposição enérgica às
reformas propostas pelas instâncias eleitas. Se tais condições
são preenchidas, veremos a que ponto os princípios funda-
dores da Constituição americana, em particular o artigo da
declaração dos direitos que garantem que os cidadãos não
serão jamais privados de sua vida, de sua liberdade e de sua
propriedade sem o devido processo legal, são compatíveis
com a filosofia social progressista da qual Ely procurou lançar
os fundamentos37. A idéia de que a independência do judiciá-
rio é frequentemente preferível às impetuosidades da vonta-
de majoritária quando se trata de impulsionar uma evolução
dos direitos favoráveis ao progresso social não deve, portan-
to, ceder à tentação inversa, pois, diz Ely, “um povo racional
não permitirá, de modo permanente, a um corpo restrito de
homens, que se mantenha entre ele (o povo) e as exigências
37 Ely, R., Property and contract, II, 694.
Norma, moralidade e interpretação... - 39
humanitárias de um progresso geral.” Essa é a razão pela
qual, se não houver outra solução, “o povo pode tomar en-
tre suas próprias mãos a revisão das decisões proferidas em
determinados casos concretos.”38 Nesse sentido, afirma Ely, a
desconfiança em relação às assembléias legislativas conduziu
a uma extensão indevida do perímetro da lei constitucional
que coloca um crescente número de questões políticas fora do
âmbito da vontade popular e enfraquece, desse modo, – e esse
é o objetivo daqueles que promovem tal extensão – a coletivi-
dade no conflito que a opõe a interesses privados que podem,
por sua vez, se apoiar na interpretação ultra-individualista da
Constituição que prevalece nas Cortes39.
A tese defendida por Ely é, desse modo, uma recolocação
em causa do sentido da noção individualista cuja versão ar-
caica, afirma ele, obstaculiza atualmente o progresso. Ele se
mostra, portanto, muito atento à verdadeira retórica política
que simula acreditar que o sentido de nossos conceitos mais
fundamentais não é objeto de contestação e que ele poderia
ser fixado de modo neutro sem qualquer integração no con-
texto de uma teoria política e social40: “Um de nossos direitos
garantidos, escreve ele, é a liberdade de contratar, mas o que
significa essa liberdade de contratar? ‘livre’ e ‘liberdade’ são
palavras cujo sentido é flexível. A filosofia do século XVIII
delas nos fornece uma definição formal cujo sentido, aplicado
aos casos particulares, transforma-se, hoje em dia, em opres-
são e servidão. Mas é perfeitamente possível atribuir-lhe um
sentido construtivo e reconhecer o caráter coercitivo das for-
ças econômicas que coagem homens e mulheres a fazer o que
eles e elas não desejam. Toda legislação adequada do trabalho
acrescenta, portanto, à liberdade, uma regulamentação dos
contratos.” 41
38 Ely, R., Property and contract, II, 697.
39 Ely, R., Socialism, an examination of its nature, its strength and its weaknesses (Londres,
1895), p.344.
40 Ronald Dworkin, “Hart’s Postscript and the Character of Political Philosophy”
(2004) 14: 1 Oxford Journal of Legal Studies 1.
41 Ely, R., Socialism, its nature, its strength and weaknesses (Londres 1895), p.208.
40 - Norma, moralidade e interpretação...
Ely coloca igualmente em causa a retórica “libertariana”
quando analisa o sentido da fórmula segundo a qual a tarefa
do Estado deveria consistir apenas na proteção da vida e da
propriedade. Qual seria, efetivamente, seu sentido? Se, diz
ele, afirmamos que “significa a proteção das capacidades que
residem na pessoa natural ou da capacidade de adquirir pro-
priedade, isso é, se pensamos que essa fórmula significa que
devemos proteger a força e as capacidades dos jovens bem
como as oportunidades que devem ter para desenvolver suas
potencialidades, teremos atribuído, nessas circunstâncias,
uma função bem ampla ao Estado.” Ely procede à mesma
denúncia da retórica e da impressão de falsa neutralidade a
propósito da interpretação do poder de polícia. Esse poder
confere ao Estado a faculdade de perseguir “objetivos públi-
cos”, de tomar a “propriedade com vistas a um uso público”,
etc. O legislativo pode ir muito longe na interpretação desses
termos, e o judiciário dispõe, ele também, de ampla latitude
que lhe permitiria interpretá-los, a propósito do caso concre-
to, no sentido do progresso social, e não no sentido que lhe
foi dado no século XVIII. Constitui, portanto, uma utilização
abusiva desses termos sua redução à proteção dos bens e das
pessoas contra a violência e a fraude. Podemos, diz Ely, citar
casos evidentes que testemunham a evolução desses termos e
o fato de que seu sentido não pode mais ser aquele que pos-
suía inicialmente. Assim, as municipalidades podem tomar as
propriedades no interesse do planejamento urbano e, algu-
mas vezes, por razões puramente estéticas de simetria. Quem
teria pensado, há mais de um século, que uma atenção das
instituições públicas às necessidades de solidariedade social
permitir-lhes-ia expropriar, através de indenização aos pro-
prietários, terrenos urbanos com o objetivo de melhorá-los, de
neles realizar programas habitacionais e de revendê-los poste-
riormente com o único objetivo de aumentar o número de ci-
dadãos proprietários de imóveis residências, como os alemães
fizeram em Ulm? Tudo o que necessitamos nesse caso, diz Ely,
Norma, moralidade e interpretação... - 41
“é de uma interpretação da palavra ‘público’ que corresponda
às condições do momento e que seja, consequentemente, rea-
lista.” 42
Do mesmo modo, parece muito natural não separar a pro-
teção da vida da proteção das condições que permitem aos
indivíduos manterem-se em um estado de saúde correto. O
direito à saúde, ou mais exatamente o dever de permitir ao
conjunto dos cidadãos o acesso aos meios de saúde, faz par-
te das tarefas do Estado. É exatamente nessa direção que é
preciso ir, em lugar desse individualismo ultrapassado que
toma essa fórmula no sentido mais estreito, isso é, no senti-
do de uma proteção da vida contra as ações de um homem
armado com um cassetete ou com uma pistola prestes a agre-
dir um terceiro. Hoje em dia, afirma Ely, as ameaças contra
a propriedade e a vida vêm menos da força física que dos
procedimentos jurídicos inadequados que permitem alguns
de apropriarem-se legalmente daquilo que é indispensável à
vida e à liberdade, e dispositivos sociais que impedem os in-
divíduos de desenvolverem sua capacidade e potencialidade
de tornarem-se proprietários.
42 Ely, R., Property and contract, II, 698.
42 - Norma, moralidade e interpretação...
Entre a teoria da norma
e a teoria da ação
José Reinaldo de Lima Lopes
Direito GV – São Paulo
Faculdade de Direito – Universidade de São Paulo
“Pfuhl pertencia à família desses teóricos que
de tanto amarem as teorias em si acabam por
esquecer-lhes os fins, ou seja, a sua aplicação
prática.” (Leon Tolstói, Guerra e paz)
Pretendo neste artigo apresentar esquematicamente duas
diferentes maneiras de conceber o núcleo de uma teoria do
direito - uma teoria das normas e uma teoria da decisão -, para
argumentar afinal que a escolha dessas perspectivas determi-
na tanto a maneira como se ensina direito como a maneira de
se debaterem questões jurídicas e se tomarem decisões jurí-
dicas na prática, isto é, no mundo não acadêmico, seja pelos
profissionais seja pelos cidadãos comuns. Para fazer isto apre-
sento primeiro um panorama da cultura jurídica como a rece-
bemos (seção 1), em seguida apresento minha idéia dos traços
característicos de uma teoria das normas (seção 2) e de uma
teoria da decisão (seção 3), para afinal mostrar as conseqüên-
cias relevantes na prática (no ensino e no debate jurídico).
1. O panorama da teoria do direito
Durante as últimas décadas tem havido um deslocamento
da teoria do direito de uma teoria das normas para uma teoria
da decisão, ou talvez se possa dizer mais propriamente uma
teoria da ação. Pressuponho que a decisão é uma forma de
Norma, moralidade e interpretação... - 43
ação: decidir é agir. A deliberação que pode preceder a de-
cisão é também constitutiva da decisão, e no caso do direito
precisa ser explicitamente desenvolvida nas sentenças (a obri-
gatoriedade da fundamentação ou motivação das decisões). A
deliberação esclarece os motivos de quem decide, e os motivos
são a fundamentação da sentença. Daí os juristas usarem in-
diferentemente a motivação, a fundamentação ou a justifica-
ção da sentença. Uma decisão é sempre compreensível pelos
seus motivos – como todas as ações, aliás. Ora, decidir uma
questão jurídica não é o mesmo que decidir um problema ma-
temático. Decidir uma questão ou caso jurídico é deliberar,
mas resolver o problema matemático não. É essa sutil e nem
sempre reconhecida diferença entre as duas coisas, entre o ra-
ciocínio que por si mesmo resolve um problema matemático
e o raciocínio jurídico que resolve um problema jurídico, que
pode lançar uma primeira luz sobre a teoria jurídica como te-
oria da ação. Embora usemos as palavras decisão e resolução
para a resposta a questões tanto matemáticas quanto práticas,
a natureza dos problemas é completamente diferente, o que
por si já indica que a natureza das duas decisões ou soluções
é completamente diferente também.
Ao nos concentrarmos no que são as normas antes que
no que fazem os juristas com as normas, teremos do direito
uma certa idéia: a idéia de que o direito é uma ‘coisa’, algo,
talvez mesmo um texto. O jurista parece exercer a atividade
de descrever ou falar sobre os textos (as proposições jurídi-
cas). Ao nos concentrarmos na teoria da decisão, chamamos
a atenção para o que fazem os juristas, e, portanto, teremos
do direito a impressão de que se trata de um fazer, na minha
opinião num deliberar sobre as ações a partir das regras jurí-
dicas. O jurista parece exercer a atividade de decidir. As duas
visões geram, portanto, objetos teóricos distintos e, por isso,
mesmo podem ser avaliadas como mais ou menos adequadas
ao seu objeto e como mais ou menos adequadas à realidade à
qual se referem. Não nego que haja uma espécie de doutrina
44 - Norma, moralidade e interpretação...
ou teoria das normas por trás do pensamento jurídico, o que
estou sugerindo é apenas, por enquanto, que as duas teorias
têm alcances diferentes e que talvez a teoria da decisão seja
mais abrangente – e, portanto, melhor como teoria do direito
– do que uma teoria das normas. Dessa forma, uma teoria da
decisão carrega consigo uma certa teoria da norma, mas não
esgota o direito na teoria das normas.
De fato, os juristas valem-se de teorias das normas de ma-
neira intuitiva, na medida em que a especificidade das nor-
mas jurídicas lhes é indispensável e lhes aparece como algo já
dado. Eles usam mesmo uma doutrina das fontes do direito
existente em disposições expressas a respeito da lei como fon-
te e fundamento de decisões jurídicas (como por exemplo o
art. 5º, II, da Constituição Federal, o art. 126 e 127 do Código
do Processo Civil, e outros diversos diplomas do ordenamen-
to jurídico). Eles também se valem de uma doutrina feita por
outros juristas que explicam essas disposições legais. Já foram
também incorporadas em lei e pela “ciência” jurídica as técni-
cas de solução de antinomias (os problemas de anterioridade
da lei, de revogação parcial, e outros como os do art. 2º. da Lei
de Introdução ao Código Civil). Dessa forma há já elementos
suficientes para dar aos juristas indicações de qual é a ‘teo-
ria’ das normas adotadas. Embora em momentos importantes
possam surgir dúvidas sobre qual a lei a aplicar, os juristas sa-
bem que devem aplicar o direito positivo, incluindo também
os critérios que o próprio direito positivo lhes dá para integra-
rem o corpus de normas que devem aplicar. O que realmente
os juristas fazem não é, portanto, senão decidir conforme à lei
vigente em seu meio e no seu tempo.1
A distinção entre teoria da norma e teoria da decisão tem
relevância teórica e prática. Embora ambas possam ser tra-
tadas como teorias, ou seja, como abordagens especulativas
1 Como destaca Finnis (2003), a tradição clássica do direito natural dizia coisa se-
melhante: se tomarmos a tradição tomista em particular o tema é ainda mais claro,
pois S. Tomás insistia em que os juízes estavam postos para julgar pela lei, e não para
julgar a lei. (cf. Suma Teológica, Ia IIae, q. 96, 4 e IIa IIae, q. 60).
Norma, moralidade e interpretação... - 45
a respeito do fenômeno jurídico, os resultados de uma e de
outra são diferentes. Se nos concentrarmos em fazer uma teo-
ria das normas não espelharemos o que fazem os juristas pro-
priamente.
Quando me refiro à relevância prática de nossas teorias
sobre o direito refiro-me tanto a uma relevância didática quan-
to a uma relevância no exercício da atividade. Na medida em
que encaramos o direito como um saber especulativo sobre
um objeto dado (a norma), tendemos a ensiná-lo de um jeito.
Se o encararmos de outra forma, como um deliberar segundo
regras, tendemos a encará-lo de outra forma. Não surpreende,
pois, que tendo majoritariamente aderido à teoria da norma,
nossas faculdades de direito sejam freqüentemente acusadas
de não oferecerem nada de prático aos alunos, ou seja, nada
de especialmente útil a eles. Mesmo as matérias ditas práti-
cas, tendem a oferecer-lhes conceitos, não habilitações. Por
outro lado, se temos do direito uma idéia prática, isto é, se
admitimos que a verdadeira teoria do direito não é uma teoria
descritiva das normas, mas uma “teoria da decisão”, nossa
posição diante de um problema jurídico qualquer é a de quem
precisa justificar sua ação, motivá-la antes que explicá-la. A
decisão precisa mais de justificação – na qual, naturalmente
a paráfrase (ou ‘explicação da norma’) joga um papel funda-
mental – do que de explicação. É um processo mais de expli-
citação de um juízo, do que de exposição de um pensamento.
Aquilo de que vou falar talvez se enquadre na distinção
feita por Bobbio e referida por Atienza (2000, 52) segundo a
qual existe uma lógica das normas e uma lógica dos juristas.
A primeira tem por objeto as relações lógicas entre normas, a
segunda tem por objeto as formas de argumento utilizadas.
Mas em que a teoria da ação ou da decisão no âmbito do di-
reito difere da teoria da norma? E afinal em que consiste uma
teoria das normas? Esse constitui o núcleo da seção seguinte
do artigo: mostrar o que foi a teoria da norma esposada por
vários autores ao longo do século XX. O autor mais exemplar
46 - Norma, moralidade e interpretação...
de todos foi, naturalmente, Hans Kelsen. Com ele a teoria da
norma ganhou consistência e expressão jamais alcançadas an-
tes.
Estou falando de juristas e uso a palavra de forma ampla.
Não penso em primeiro lugar ou exclusivamente no jurista
acadêmico, no professor ou no filósofo do direito. Refiro-me
àquela espécie mais comum entre nós, o profissional do direi-
to, o qual estudou direito em uma faculdade e depois dedi-
cou-se à profissão de resolver conflitos tanto como advogado
quanto como juiz, aquele que fez um curso na forma hoje co-
mum, para escapar de ser um rábula ou leguleio.
2. A teoria das normas
A teoria das normas tem em geral como ponto de partida
e objeto central de reflexão uma espécie de ontologia da nor-
ma jurídica organizada em torno de alguns pontos.
Primeiro, giram em torno da pergunta: O que é a norma
jurídica? A pergunta ganhou especial importância em fun-
ção de circunstâncias históricas especiais: tratava-se de uma
tentativa de isolar o direito das influências religiosas (isto é,
dos discursos das religiões institucionalizadas) que tanto mal
haviam causado, como guerras civis e perseguições políticas
e ideológicas, morte de inimigos da fé ortodoxa e assim por
diante. Se o discurso moral pudesse ser mais claramente iso-
lado do discurso religioso (tarefa a que se dedicaram os jus-
naturalistas) e se ainda depois o direito pudesse também ser
isolado do discurso moral, talvez fosse possível minimizar os
estragos sociais que se haviam conhecido ao longo da histó-
ria.2
2 Uma definição de norma jurídica e dos problemas de sua aplicação está presente
desde há muito tempo na filosofia ocidental. Apenas a título de lembrança, recordo
aqui a famosa Questão 90 da Ia IIae da Suma teológica de Tomás de Aquino. O que
se explica ali é a essência da lei e a questão termina com uma definição: a lei é uma
regra compreensível (racional), voltada para a manutenção do bem comum (de uma
comunidade política), procedente da autoridade competente (quem representa a co-
munidade) e adequadamente promulgada. Normas assim são positivas, jurídicas e
Norma, moralidade e interpretação... - 47
O que é a norma jurídica? A essa pergunta a resposta te-
órica mais ouvida é em primeiro lugar que se trata de uma
norma dotada de sanção em si mesma ou no sistema (ordena-
mento jurídico) em que está inserida. Isso marca a distinção
específica entre normas jurídicas e normas morais (ou ainda
das normas técnicas e das normas lógicas).
Em segundo lugar, a norma jurídica pertence a um con-
junto organizado de normas: um ordenamento ou sistema
normativo. Normas jurídicas são as normas que pertencem a
tal ordenamento por pedigree, por serem produzidas dentro
desse ordenamento e na forma determinada por tal ordena-
mento, por procederem de uma certa autoridade, a autorida-
de jurídica.
Em terceiro lugar assemelha-se a quaisquer outras nor-
mas porque é um imperativo. Normas em geral são coman-
dos, ordens, mandamentos de alguém. Normas jurídicas, por-
tanto têm um alguém por trás, esse alguém é o soberano, o
Estado, o poder político. Normas jurídicas se distinguem de
outras normas porque em caso de desobediência ou descum-
primento o sujeito a quem se dirigem será de algum modo
punido: há uma sanção imposta pela autoridade pública.
Em quarto lugar os juristas dessa vertente perguntam-se
pelo caráter obrigatório dessas normas, ou seja, por sua va-
lidade. Visto que são percebidas como ordens apoiadas em
sanções e visto, no entanto, que empiricamente qualquer
um se dá conta de que as normas jurídicas são descumpri-
das sem que por isso deixem de valer, surge para os teóricos
o embaraçoso problema da relação entre validade e eficácia.
A validade, ou seja, o caráter obrigatório das normas jurídi-
cas, depende de serem efetivamente cumpridas? Nesse caso,
como saber quando deixam de ser obrigatórias? O que fazer
com todas as características de um mandamento dado por um
sujeito determinado a outro sujeito determinado no caso dos
ordenamentos estatais, em que o sujeito determinado se con-
obrigatórias.
48 - Norma, moralidade e interpretação...
verte num abstrato Estado e o sujeito obediente se converte
no abstrato cidadão? As diferentes correntes de teóricos das
normas aceitam em geral que a validade depende da eficácia,
mas divergem quanto às soluções dadas às questões postas
no parágrafo anterior. Conforme a validade dependa integral,
parcial ou nulamente da eficácia, chamam-se eles realistas ou
idealistas. Ao fim, porém, fica sempre por resolver qual é o
limite dessa relação. Kelsen, por exemplo, sugere de maneira
clara, mas não definida, que a validade depende de algum
grau de eficácia. Alf Ross cai na pura e simples descrição dos
comportamentos: os comportamentos que lhe interessam são
os dos profissionais do Estado encarregados da sanção, logo
o direito é não propriamente comando, mas obediência pura
e simples, o fato não qualificado do poder. No entanto, visto
que os profissionais do Estado são profissionais por um fato
não-bruto,3 fica sempre o incômodo de dizer por que afinal
alguém é ou não juiz.
Quinto traço que se pode mencionar: uma teoria das nor-
mas é geralmente associada a uma concepção do direito como
poder, isto é como capacidade de imposição da própria von-
tade a outrem (Max Weber). Se as normas são propriamente
comandos ou ordens de alguém para alguém, é natural que
o objeto central da doutrina jurídica seja subjetivista e indivi-
dualista. Subjetivista porque as normas são equiparadas à ex-
pressão de uma vontade: essa vontade só pode pertencer a um
sujeito real ou ficcional, dizem os teóricos da norma. O sujeito
real é o legislador empírico, digamos: o sujeito ficcional é o le-
gislador imaginado (institucionalizado). Individualista porque
3 O fato não-bruto é o fato institucional. A idéia foi ultimamente elaborada seja por
John Searle, na filosofia em geral, seja por Neil MacCormick, na teoria do direito. No
direito, entretanto, o assunto é velho conhecido: foi sofisticadamente estudado como
fato jurídico e como ato e negócio jurídico. A doutrina distinguiu não apenas o fato de
suas conseqüências, mas também o fato e sua dimensão propriamente jurídica. Essa
dimensão transforma um evento ou uma ação em algo que vale como, isto é, num
fato institucional. Determinadas palavras pronunciadas de certa maneira em certas
condições valem como obrigação (obrigação unilateral, por exemplo), ou valem como
casamento (logo, como entrada em um estado civil composto de obrigações recípro-
cas entre marido e mulher).
Norma, moralidade e interpretação... - 49
mesmo nos casos em que evidentemente não há um alguém
empírico, a linguagem usada para falar das normas é sempre
referida a um indivíduo e a relação que se imagina é de caráter
binário: alguém manda – alguém obedece. Por conseqüência,
outra característica das teorias de que estamos falando é que o
direito é visto como um elemento de controle de alguém sobre
alguém. O direito controla, ou mais expressamente, constrange
e restringe comportamentos. Essa perspectiva não enfatiza as
normas como guias de conduta autônoma, ou como orienta-
ções para a ação. Já que se trata de ordens seguidas de sanção,
e já que a sanção é percebida como uma conseqüência negativa
a ser evitada pelo cumprimento da norma, o direito passa a
ser concebido como se fosse dirigido ao homem mau, ao de-
linqüente, ao transgressor. Normas são formas de controlar os
desviantes, os transgressores. Não orientam no que fazer, mas
dizem o que não fazer, pela sanção.
Finalmente, pode-se dizer que a teoria das normas é aná-
loga, no campo do direito, à lingüística no campo das línguas.
A lingüística não ensina ninguém a falar uma língua, embora
possa ser um importante saber a respeito do falar, sem dúvi-
da. Ela fornece uma espécie de lógica ou gramática universal
da linguagem sem, ela mesma, ser uma gramática de alguma
língua em particular e sem habilitar seus cultores a realizar
um discurso. Em outras palavras, a lingüística não é prática.
Igualmente, uma teoria das normas não é prática. Embora
faça sentido em si mesma, se for entendida como aquilo que o
jurista deve saber para exercer sua atividade, incorre em um
problema sério. Ela fala de fora, mas não habilita seus cultores
a fazer direito. Eles continuam a fazê-lo, mas não dependem
de uma teoria das normas para fazê-lo, ou pelo menos não
depende da teoria das normas que se tornou corriqueira entre
nós. A ilustração melhor deste problema é dada na seguinte
afirmação de Veach:
“Afinal de contas, para um homem que deseja dirigir
um carro, seria uma experiência bastante frustrante se
50 - Norma, moralidade e interpretação...
seu instrutor sistematicamente se recusasse a dizer-lhe
o que fazer, limitando inteiramente suas observações a
uma análise da linguagem usada nos manuais de direção
e evitando qualquer comentário quanto a se as instruções
que efetivamente constam do manual eram para ser se-
guidas ou não.”(Veach sd, 42)
Uma teoria assim apresenta algumas dificuldades, descri-
tas por Hart em seu O conceito de direito. A mais evidente é
que realmente não dá conta de todas as formas de ação su-
jeitas a normas, nas quais as normas não correspondam cla-
ramente a essa forma de comando, imperativo ou ordem. O
primeiro caso em que a recondução de todas as normas jurídi-
cas à sanção parece não funcionar muito bem dá-se no âmbito
da invalidade ou nulidade dos atos jurídicos. A invalidade ou
nulidade não é uma sanção, não é uma punição propriamen-
te. A invalidade é mais parecida com uma falta de vigor para
atingir seus propósitos. O ato nulo ou anulável não é o ato que
leva à punição de alguém, mas o ato que não consegue valer
como... Uma compra e venda de imóveis requer não apenas o
consenso dos agentes e o preço do negócio, mas também uma
forma especial (a escritura pública). Mesmo que as partes quei-
ram comprar e vender, se não usarem a escritura pública não
atingirão o fim visado. Não sofrem nenhuma punição, pois
bem aconselhados e assessorados por algum advogado ter-
minarão por concluir o negócio. Os sujeitos não foram capa-
zes, incorreram no que John Austin chamou de uma infelicity.
Não se explicam facilmente dentro da teoria das normas de
que falo as simples regras de validade ou as regras de caráter
constitutivo (como por exemplo: “o Brasil é uma república”).4
Regras constitutivas, que Hart veio a chamar de regras secun-
dárias, são as que definem os propósitos, as finalidades, as
formas do jogo. Não são regulativas, isto é, não proíbem ou
punem jogadas, comportamentos, ações. Regras constitutivas
são normas de validade propriamente: isto vale por aquilo, x
vale y. Dizer: a bola que alcança a rede passando entre as tra-
4 Regras de caráter constitutivo.
Norma, moralidade e interpretação... - 51
ves vale gol, não tem o mesmo caráter de dizer, a jogada com
a mão durante a partida impõe ao time do jogador que usa a
mão uma punição qualquer. Isso é bastante diferente da visão
de quem deseja realizar uma ação, uma atividade ou guiar
sua própria vida não pelo comando de alguém, mas segundo
um padrão que lhe parece um bom critério. Para esses, a regra
é uma medida com a qual avaliar sua própria ação.5
Uma segunda dificuldade é apontada também por Her-
bert Hart. Se explicarmos tudo a partir de um sujeito que
manda e impõe regras (chamemo-lo Rex, diz Hart), por que
continuamos a segui-las quando esse sujeito morre? Elas
não eram comandos de Rex? Se continuamos a segui-las, o
que seguimos afinal: as regras ou as ordens de um morto?
Seguimo-las por temor, ou porque simplesmente nos acostu-
mamos? E se surgirem dúvidas a respeito de como seguir a
regra-comando, como as resolveremos? Consultando o morto
ou a um que fala com os mortos? Essa é uma pequena série de
problemas quando se trata a regra jurídica como um coman-
do para o qual não há razões de obedecer a não ser o temor
de uma autoridade. Quando a norma jurídica é o centro da
teoria, e quando se caracteriza fundamentalmente pela idéia
de sanção, os sujeitos à regra não agem no sentido próprio,
apenas reagem. A concepção do sujeito é behaviorista. Com
o passar da história, a sempre mais importante idéia de que
vivemos sob as leis e não sob as ordens de indivíduos leva-nos
à reflexão sobre como garantir que não estejamos apenas e ne-
cessariamente sujeitos a ordens de loucos, predadores, crimi-
nosos? Em outras palavras, a teoria da norma jurídica como
um simples comando não permite entender uma razão pela
qual obedecemos, nem uma razão pela qual interpretamos as
normas em casos duvidosos.
Finalmente, deixando em segundo plano a ação e a deci-
são, a teoria das normas dá a impressão de que essas não são
racionalmente reguladas e, talvez ainda mais importante, não
5 Abordei esse mesmo tema em Lopes (2004).
52 - Norma, moralidade e interpretação...
se prestam à tarefa de ensino dessa atividade que é decidir
segundo o direito. Isso porque a teoria das normas concebe a
ciência como um discurso sobre alguma coisa, e desse ponto
de vista, a ciência do direito só pode ser um discurso sobre as
normas. O caso mais exemplar e conseqüente dessa maneira
de pensar é o de Hans Kelsen. Em sua forma de compreender,
o discurso sobre a norma pode ser científico, mas a decisão
singular não é senão um ato de vontade aplicada a um caso.
Isso é a atribuição de sentido nos casos concretos (pelo próprio
agente, ou por alguém que entende ou julga a ação). Para ele
há uma distinção entre o sentido cognoscitivo de interpretar
(fixação de sentido da norma) e a aplicação ao caso concreto,
que não é uma tarefa propriamente cognoscitiva (Kelsen 1979,
467). Assim, quem olha o ordenamento sem ter de aplicá-lo vê
inúmeras soluções possíveis (inúmeros sentidos, num quadro
geral). No entanto, quem o olha como agente é obrigado a es-
colher um só sentido. Essa escolha, para Kelsen, é um ato de
vontade, não de conhecimento.
Essa perspectiva é perfeitamente coerente com seu modo
de entender as coisas. De fato, como ele pretende fazer uma
teoria do direito à moda de uma lingüística geral das nor-
mas, a realização concreta do direito não é de seu imediato
interesse. Nesse sentido, a lógica aplicada ao direito não lhe
serve de instrumento, pois a rigor, a lógica é capaz apenas
de juízos analíticos, e a decisão singular é um juízo sintético.
Isso se expressa claramente em sua Teoria geral das normas,
quando diz: “a conclusão não é movimento do pensamento
que conduza a uma nova verdade, senão apenas faz explícita
uma verdade que já é implicada na verdade das premissas.”
(Kelsen 1986, 291) A conclusão do raciocínio fica sempre na
esfera do pensamento, isto é, do universal. O julgamento jurí-
dico (do juiz que condena ou absolve, mas também das partes
de um contrato, ou do homem comum que se orienta pelas
normas) é sempre singular. Recordemos os clássicos: é pos-
sível pensar no universal, mas só é possível agir no singular.
Norma, moralidade e interpretação... - 53
Ora, se a decisão jurídica for uma ação, como postulei no iní-
cio, então é claro que uma teoria das normas, que pretende
concentrar-se sobre o universal, não retrata o que fazem os
juristas, nem explica como o fazem. Daí o resultado realmente
insatisfatório da interpretação na perspectiva de Kelsen e sua
potencial confluência com o decisionismo.
Ora, o problema é que do ponto de vista dos juristas, o
direito existe para indicar e permitir soluções concretas a ca-
sos jurídicos. Como expressava a filosofia clássica da ação, é
bem possível pensar universalmente, mas só é possível agir
singularmente. Não há várias soluções possíveis, do ponto
de vista do agente, mas uma só, a melhor para aquele caso.
Isso não é tematizado dessa forma por uma teoria que põe
em suspenso a razão de ser (prática) de um sistema jurídico.
Como resultado, a decisão propriamente dita parece lançada
ao mar de sargaços da irracionalidade individual, do apetite,
do capricho, ou da racionalização pura e simples (racionali-
zação como esforço consciente de justificar atitudes tomadas
em resposta a impulsos inconscientes, sejam eles psicológicos,
sejam eles ideológicos).
No fundo, essa espécie de teoria não se indaga pelo ‘o que
é seguir uma regra’ de forma autônoma. O comportamento de
quem segue uma regra é percebido, para os cultores da teoria
da norma, como o comportamento de alguém que reage a um
castigo: trata-se de uma abordagem de caráter behaviorista.
Ora, o comportamento de seguir uma regra é mais fundamen-
tal do que o de obedecer alguém. Regras lógicas, regras gra-
maticais, regras matemáticas, são todos exemplos de regras
que se seguem, sem que seja por razões instrumentais ou por
medo.
A despeito disso, a teoria da norma continua a ser um
modelo muito comum. Mesmo quando seu autor procura
distanciar-se dela é corriqueiro que seus comentadores o di-
vulguem ainda sob uma perspectiva de teoria da norma. Veja-
se o caso relativamente recente de um teórico grandemente
54 - Norma, moralidade e interpretação...
popularizado no Brasil como é Robert Alexy. Alexy várias
vezes dá a entender que sua teoria é uma teoria da lógica dos
juristas, ou mais própria e expressamente da razão prática: “A
argumentação jurídica é concebida como uma atividade lin-
güística. (...) O discurso jurídico é um caso especial do discur-
so prático em geral.” (Alexy 1989, 34). Ou ainda: “Isto [que a
argumentação jurídica é um caso especial do discurso prático]
se fundamentava: (1) em que as discussões jurídicas referem-
se a questões prática, isto é, a questões sobre o que há de ser
feito ou omitido, ou sobre o que pode ser feito ou omitido e
(2) estas questões são discutidas do ponto de vista de uma
pretensão de correção. Trata-se de um caso especial porque
a discussão jurídica (3) tem lugar sob condições de limitação
do tipo mencionado.” (Alexy 1989, 206-207). No entanto, a es-
pécie de debate que sua divulgação gera no Brasil é freqüen-
temente sobre a teoria das normas: a pergunta pela ontologia
das normas passa a envergar a roupagem das perguntas sobre
a ontologia dos princípios (uma espécie de norma) e das re-
gras (outra espécie). Tudo pode ainda girar em torno da teoria
das normas, ou mais propriamente em torno da ontologia das
normas, como se princípios ou regras fossem coisas cuja natu-
reza se pudesse distinguir e uma vez distinguidos pudessem
ser ensinados como objetos distintos. O resultado disso é que
se passa a concentrar atenção nas normas outra vez. Os alunos
passam a ter a impressão que o importante é saber distinguir
uma regra de um princípio, e que uma vez feita a distinção,
todo o arsenal conceitual da lógica das normas torna-se mais
fácil de ser aplicado.6
Por diversas razões, algumas propriamente teóricas – ou
seja, relativas às deficiências explicativas de uma teoria das
normas – e outras práticas – ou seja, relativas às circunstân-
cias em que as autoridades democráticas surgem e decidem,
a teoria das normas como teoria geral do direito vem sendo
posta em dúvida e substituída por outras teorias gerais, que
6 Sobre os problemas no ensino do direito ver Lopes (2006) e sobre a excessiva con-
fiança na distinção entre princípios e regras ver Lopes (2003).
Norma, moralidade e interpretação... - 55
vou chamar de forma bastante genérica de teorias da deci-
são. Não se trata, claro, de teorias decisionistas, que são muito
mais próximas às teorias da norma como ordem do que das
teorias do direito de que tratarei a seguir.
3. A teoria da decisão
Teorias diferentes começam quando já não se põe no cen-
tro da investigação uma diferença específica da norma jurí-
dica, mas o problema mais geral do seguir uma regra. O que
é seguir uma regra? Como pode alguém seguir uma regra e
como pode algum juiz aplicar uma regra jurídica?
Uma teoria da decisão desenvolve-se na medida em que
o foco de atenção volta-se para o processo deliberativo e es-
capa vagarosamente da força atrativa da teoria das normas.
Essa novidade foi impulsionada ou de certa forma apoiada
por uma série de mudanças na própria filosofia, a mais im-
portante das quais a meu ver, que falo aqui sem ser filósofo no
sentido profissional e técnico do termo, é a variada gama de
filosofias da linguagem, ou de maneira mais geral, filosofias
cujo centro de reflexão deslocou-se do ato simples e isolado
do conhecer uma norma, para o ato mais cotidiano (e quase
imperceptível de tão cotidiano) do seguir a norma. Note-se
que a palavra seguir (usada também em outras línguas, como
o ‘suivre une règle’, ‘to follow a rule’, ‘seguire una regola’ etc.)
indica essa idéia de que a regra é um indicador de um cami-
nho no qual nos iniciamos e que devemos, se entendemos a
regra, continuar por nossa própria conta. Essas diversas filo-
sofias deslocaram o centro de gravidade de suas preocupa-
ções da tensão sujeito-objeto, para outro centro de gravidade:
o da linguagem como atividade regrada e como condição de
possibilidade primeira da cooperação social humana. Justa-
mente por não ser filósofo profissional ouso aqui colocar lado
a lado correntes que os filósofos apartam como se carregas-
sem em si uma vis repulsiva em relação umas com as outras.
56 - Norma, moralidade e interpretação...
Na primeira vertente é de especial interesse a filosofia de
Karl-Otto Apel, o verdadeiro pai da ética do discurso. O que
Apel faz, ao projetar uma operação de resgate do criticismo
kantiano, é rejeitar de Kant os traços solipsistas do pensa-
mento. Não se trata de refletir sobre o sujeito voltado para os
objetos do mundo (o mundo das coisas, na razão pura, ou o
mundo das ações, na razão prática), mas do sujeito que pensa
em meio aos outros sujeitos valendo-se de uma razão comum,
encarnada na língua. Daí Apel falar de uma pragmática trans-
cendental. A linguagem e a comunidade lingüística ideal são
de caráter transcendental (Apel 2000, 249). Em sua concepção,
A possibilidade de um acordo mútuo quanto a critérios
(paradigmas, padrões) da decisão correta (...) pressupõe
[a seu ver] que o próprio acordo mútuo lingüístico está
a priori vinculado a regras que não podem ser fixadas só
por ‘convenções’, mas que vêm, na verdade, possibilitar
as convenções. (Apel 2000, 279-280)
Por isso, Apel vale-se da distinção entre a comunida-
de ideal de comunicação e a comunidade real de comunica-
ção. A comunidade ideal fornece aos falantes um ambiente
em que estão pressupostas regras estruturais ou gramaticais
do discurso em que todos nos envolvemos. Na comunidade
real essas regras pressupostas balizam a realização dos dis-
cursos singulares. As regras, portanto, não são apenas cons-
trangimentos e limites, mas condições de possibilidade da co-
municação: são constitutivas dessa possibilidade (Apel 2004,
112-114). As regras lógicas são o caso mais fundamental dessa
implicação entre regras e comunicação: “A validação lógica
de argumentos não pode ser testada sem que se suponha em
princípio uma comunidade de pensadores que estejam ca-
pacitados ao acordo mútuo intersubjetivo e à formação de
consensos. Mesmo o pensador realmente solitário só pode
explicar e testar realmente sua argumentação à medida que
logra internalizar o diálogo de uma comunidade de argumen-
tação potencial no diálogo crítico ‘da alma consigo mesma’
Norma, moralidade e interpretação... - 57
(Platão).” (Apel 2000a, 451). A linguagem, sendo sempre lin-
guagem comum (de uma comunidade ideal e de uma comu-
nidade real), afasta a idéia de um sujeito isolado (solipsista)
confrontado com um mundo que ele tem de criar do zero por
sua própria atividade de pensar. A linguagem fornece, por-
tanto, o caso exemplar do pensamento, mas sendo ela social
por definição, o pensamento para se realizar precisa seguir
regras conhecidas de todos. Desta forma, seja quem for que
esteja dentro dessa comunidade, e em qualquer posição, está
tão sujeito a regras quanto o outro. A regra perde, portanto, o
caráter forte e unilateral de comando e de limite à ação, para
transformar-se em guia e condição de possibilidade da ação
mesma. Torna-se um instrumento de ação autônoma.
Uma segunda vertente vem a ser a filosofia hermenêuti-
ca. Naturalmente há na filosofia hermenêutica correntes ain-
da tributárias de formas de pensamento idealista ou mesmo
solipsista semelhantes às que estiveram na origem da teoria
do direito como doutrina dos comandos, tanto por algum
traço psicologizante (entender o outro e entender um outro
como problemas centrais da hermenêutica), quanto por um
traço idealizante (entender uma forma objetivante do pensa-
mento alheio). Há, no entanto, uma linha expressa na obra
de Paul Ricoeur, cujo propósito é escapar do psicologismo e
do idealismo. Ricoeur tem o expresso projeto de estabelecer
uma ponte entre a filosofia analítica de matriz anglófona e
a filosofia hermenêutica continental e ele o faz tomando por
base o conceito de sentido. O que se entende nos processos de
compreensão recíproca são sentidos, não pessoas, nem coisas
ideais. Os sentidos são, como ele diz, o ‘permanente do dis-
curso’, isto é, aquilo que não se confunde com o evento (empí-
rico e contingente) pelo qual o sentido se expressa, transmite
e fixa. Sentidos são produtos da ação humana, naturalmente,
mas não há ação propriamente humana sem sentido. Logo,
toda ação se realiza num ambiente de sentido, que de certo
modo a pré-existe. Ora, pode-se entender perfeitamente que
58 - Norma, moralidade e interpretação...
normas jurídicas são a expressão de sentidos jurídicos das
ações humanas. Qualquer ação humana pode ser compreen-
dida juridicamente se a ela forem atribuídos sentidos jurídi-
cos, tais como a permissão, a proibição, a obrigação.7 Nesses
termos, a tarefa da hermenêutica jurídica liga-se diretamente
ao ato de julgar uma ação, apreendendo seu sentido jurídico,
antes que ao ato de conhecer uma norma para depois aplicá-
la. Assim como alguém vale-se habitualmente de uma língua
para produzir discursos, língua na qual produzirá os discur-
sos, mas não conhece a língua em um momento diferente do
momento em que a usa, também aqui alguém age juridica-
mente (como cidadão ou como jurista) valendo-se imediata-
mente das normas sem que haja uma disjuntiva entre o ato
realizado segundo as normas e seu conhecimento das normas.
Em outras palavras, discursos são singulares e contingentes,
mas realizam-se por meio de línguas abstratas e permanentes.
Línguas são línguas apenas na medida em que permitem a re-
alização de discurso, e discursos são discursos apenas quando
veiculados por meio de línguas. Em outras palavras, decisões
regradas são decisões, e regras são o que permite decisões re-
gradas, mas ambas se implicam.
A filosofia hermenêutica nessa perspectiva permite-nos
compreender melhor o que se dá no processo do agir segun-
do regras. Em sua filosofia da ação, em que entende toda ação
como ação significativa, sujeita, pois, a regras como o discur-
so, Ricoeur chama a atenção para o fato de que a filosofia da
ação (o que venho chamando neste texto de uma teoria da
ação) não se confunde nem com a ciência da ação nem com
a ética. Distingue-se das ciências porque não explica a ação
como um movimento ou um comportamento visto de fora,
sobre o qual fala algum observador (Ricoeur 1988, 9). Distin-
gue-se da ética porque não tem por objeto próprio de reflexão
nem a idéia de um fim último (ao qual todas as razões podem
ou devem se dirigir), nem está particularmente interessada
7 Isso não difere da expressão de Kelsen. Para o jurista austríaco o direito confere
sentidos jurídicos às ações, sem dúvida nenhuma.
Norma, moralidade e interpretação... - 59
na valoração moral do bem (o desejável) em si (Ricoeur 1988,
47-48). A filosofia da ação compreende o agir humano, nem o
explica causalmente (de fora), nem o julga moralmente. O re-
levo dado na filosofia da ação é para os conceitos de intenção,
fim, razão de agir, motivo, desejo, preferência, escolha, agente
e responsabilidade, todos eles também úteis na reflexão ética
(Ricoeur 1988, 10). Ao separar a filosofia da ação das ciências
da ação, a filosofia de Ricoeur lança luz sobre a natureza mes-
ma do processo deliberativo implicado em cada ação.
Uma terceira vertente, talvez a mais importante, é
justamente a da filosofia analítica anglófona, especialmente
inspirada no chamado segundo Wittgenstein, o das Investi-
gações filosóficas. Essa tradição analítica voltada à filosofia
moral deu inúmeras contribuições na segunda metade do
século XX, sendo de mencionar muito especialmente a obra
de Richard Hare. Nessa linha sou particularmente sensível à
contribuição de John Searle, o qual levou a filosofia da lingua-
gem a um patamar novo, ultrapassando mesmo a contribui-
ção de John Austin (How to do things with words) não tanto pela
novidade absoluta do foco, quanto pela insistência do lugar
constitutivo ocupado pela linguagem no universo humano.
Tanto em Speech acts quanto em The social construction of
reality temos em Searle uma contribuição esclarecedora dos
fatos institucionais.
Estas são apenas as referências filosóficas mais próximas
responsáveis por um contexto ao lado do qual também surgi-
ram as novas teorias do direito. Essas novas teorias assumem
como problema central, para voltar à expressão de Bobbio, a
‘lógica’ dos juristas, isto é, o que é agir conforme o direito, o
que é seguir uma regra. E esse problema central, o de seguir
uma regra, é um problema não apenas do seguir as regras
jurídicas, mas o de seguir quaisquer regras: regras lógicas,
regras gramaticais, regras ou convenções sociais e assim por
diante. Em qualquer atividade regrada, em qualquer prática
social regrada, há problemas de ação, decisão, aplicação. Isso
60 - Norma, moralidade e interpretação...
muda o foco da teoria. Já não se trata mais, ou sobretudo, de
uma ontologia das regras jurídicas, mas de uma filosofia da
ação segundo regras jurídicas.
Normas ou regras são formas de ingresso em práticas
sociais, isto é, atividades humanas em que se compartilham
sentidos de ação. Uma dessas práticas mais evidentes é a
própria atividade de falar uma língua. As normas grama-
ticais são ou não são normas? Caso sejam, por que o são?
Alguém as impõem aos falantes? Como? Por que, depois que
saímos da escola e não tememos mais a vara de marmelo da
professora, continuamos a seguir as regras da língua? Será
que tememos a vara de marmelo da Academia Brasileira de
Letras? Será que seguimos as regras gramaticais por simples
temor? Será que seguimos as regras da lógica formal por
simples temor? Será que alguém nos vigia permanentemen-
te para seguirmos essas regras? Embora não se possa falar
uma língua sem lhe seguir as regras (a gramática), uma teo-
ria geral da gramática não habilita ninguém a falar qualquer
língua.
Essa distinção entre seguir as regras porque as encaramos
como guias de ação, e seguir as regras porque tememos as
conseqüências está na base da divergência entre Hart e Kel-
sen. A teoria de Kelsen é uma teoria das regras jurídicas cen-
trada no cumprimento por temor. Hart distingue claramente
o cumprimento por simples temor da perspectiva interna de
quem segue uma regra:
Uma sociedade que tenha direito inclui aqueles que vêem
as regras de um ponto de vista interno, como padrões de
comportamento aceitos, e não como simples previsões
confiáveis do que lhes acontecerá, nas mãos das autori-
dades, se as descumprirem. Mas também inclui aqueles
sobre os quais, ou porque são malfeitores ou porque são
vítimas inevitáveis do sistema, tais regras serão impostas
pela força ou pela ameaça da força; estes estão preocu-
pados com as regras apenas enquanto fonte de possível
punição. (Hart 1997, 201)
Norma, moralidade e interpretação... - 61
Ele distingue, pois, duas perspectivas: a interna, isto é,
a de quem aceita a regra, e a externa, a de quem da regra vê
apenas a sanção. A primeira perspectiva consiste em seguir
uma regra, a segunda não. A segunda consiste em evitar a
sanção e não apenas em desobedecer a uma regra para obe-
decer outra regra que se pode justificar de forma mais ade-
quada. 8
Começo por um exemplo, o do próprio Hart, cujo papel
inovador parece-me irrecusável. A despeito de os problemas
que ele enfrenta em The concept of law serem ainda muito se-
melhantes aos da teoria da norma, como bem esclareceu Bar-
zotto (2007, passim), há um ponto de sua obra que merece
destaque como o ponto de partida da nova teoria. Hart foi
talvez uma espécie de Moisés da filosofia jurídica contempo-
rânea: trouxe-nos até a fronteira da terra prometida da razão
prática, sem entrar nela, avistando-a de longe. Na verdade,
Hart abandonou a teoria das normas no sentido behavioris-
ta, mas manteve-se dentro de uma teoria geral do direito,
como bem mostra Shapiro: o ponto de vista de Hart preten-
de-se ainda teórico, não prático, mas dentro do âmbito teó-
rico pretende-se hermenêutico, não behaviorista. Esse ponto
de vista é, porém, ainda assim externo (Shapiro 2006-2007,
1160-1161). Ora, justamente o horizonte que Hart viu, e que
nos ajudou a investigar, encontra-se num ponto polêmico de
seu texto. Trata-se da sua rápida, mas fundamental referên-
cia à prática social. O tema pode parecer menor, lateral ou
pouco importante, mas ele é, a meu ver, extremamente signi-
ficativo. A prática social, como o jogo de xadrez ou qualquer
outro jogo, consiste em formas regradas de ação, embora não
formas regradas à maneira do comando ou da ordem (Hart
1997, 56-57). Tanto na prática social quanto no jogo de xa-
drez a figura do soberano, do legislador, de rex é muito me-
nos importante, para não dizer mesmo inexistente. E o que é
8 Nesses termos, na polêmica entre Perry e Shapiro (2000), minha tendência é re-
conhecer a verdade do argumento de Shapiro: o homem mau, que age por razões
prudenciais (para evitar a sanção) não é o tipo de quem segue uma regra.
62 - Norma, moralidade e interpretação...
a prática social ou o jogo de xadrez? É algo próximo, senão
mesmo igual, ao que Wittgenstein chamou de forma de vida,
ou jogo de linguagem.9
Dentro de uma teoria da norma os exemplos de prática
social e jogos parecem insuficientemente explicados. Por quê?
Justamente porque prática e jogos - a despeito de não nasce-
rem em árvores - não precisam ou mesmo não pressupõem
um soberano, um pai, um comandante a nos dizer o que fazer,
um mestre e senhor com uma palmatória levantada perma-
nentemente a nos ameaçar. Quem deseja cumprir o direito,
nessa perspectiva da prática social, não é um delinqüente cuja
vida é pautada por fugir das sanções. Quem deseja cumprir o
direito é o homem honesto que deseja entrar num jogo. Quer
saber as regras do jogo para jogá-lo, não para burlá-las. Você
quer entrar no jogo? Bem, isso joga-se assim. Quer fazer parte
dessa sociedade democrática, liberal, moderna? É assim que
se faz. Dessa perspectiva o direito é uma prática regrada, par-
ticularmente regrada, sobre uma área ampla da vida humana.
Certamente diz respeito às interações humanas em geral, mas
não se aplica a certos níveis de nossa vida. Não nos diz como
devemos amar nossos amigos, nossos pais e nossos filhos.10
Para falar com a velha tradição kantiana, obriga-nos ao respei-
to, mas não à afeição.
A porta entreaberta por Hart está bastante clara no trecho
em que ele afirma o seguinte:
O uso de regras de reconhecimento implícitas, por tri-
bunais e por outros, ao identificar regras particulares do
sistema é característico do ponto de vista interno. Os que
as usam assim manifestam, por isso mesmo, sua própria
9 Embora as referências a Wittgenstein sejam poucas no livro de Hart, elas são es-
senciais. Seu próprio exemplo do jogo de xadrez mostra a proximidade de sua visão
com aquela de Wittgenstein e em nota ao capítulo sobre ceticismo com relação às
regras – e ao problema de sua transmissão – diz que Wittgenstein faz, em Investigações
filosóficas, importantes observações sobre ensinar regras e segui-las.
10 Aristóteles dava-se perfeita conta disso ao dizer que a justiça existe propriamente
entre pessoas cujas relações são governadas pela lei, e onde as relações não são dessa
natureza não pode haver propriamente injustiça. Assim, haveria mais lugar para jus-
tiça entre marido e mulher do que entre pai e filho (Ética a Nicômaco, L. V, 6).
Norma, moralidade e interpretação... - 63
aceitação delas como guias e com essa atitude vem um
vocabulário diferente das expressões naturais ao ponto
de vista externo. Talvez, sua forma mais simples seja a
expressão “é de direito que...”, que encontramos na boca
não apenas de juízes, mas das pessoas comuns que vi-
vem sob um sistema jurídico. Isso, da mesma forma que
a expressão “fora!” ou “gol!” é a linguagem de quem está
avaliando uma situação em função de regras que ele re-
conhece, junto com outros, como adequadas a seu propó-
sito. Esta atitude de aceitação compartilhada de regras há
de ser contrastada com a de um observador que registra
ab extra o fato de um grupo social aceitar certas regras,
que ele mesmo não aceita. (Hart 1997, 102)
Notemos duas coisas importantes no trecho. A primeira é
o famoso ‘ponto de vista interno’, isto é, o ponto de vista de
quem usa a regra (o ponto de vista prático, de que fala Sha-
piro 2006-2007), ponto de vista completamente diferente da-
quele que fala da regra (o ponto de vista externo). A segunda
é a referência à ‘aceitação compartilhada’ (shared acceptance).
Não se trata apenas de um fato externo, mas de um fato – se
quisermos – no qual o que é partilhado é um sentido da ação.
Exatamente, aliás, como se dá no uso da língua para realizar
discursos. As línguas são sistemas compartilhados, visto não
haver propriamente línguas privadas (isto é, individuais). Te-
mos aí dois elementos importantes, quais sejam: uma prática
social (a shared acceptance) e o uso (ponto de vista interno, o
ponto de vista prático ou o ponto de vista da primeira pessoa)
da própria regra.
Desse ponto de vista já não basta falar das diferenças en-
tre normas jurídicas e normas morais, ou mesmo de direito
natural e direito positivo. O próprio Hart reconhece que afinal
de contas os sistemas jurídicos têm um mínimo de direito na-
tural, porque se o direito diz respeito às interações humanas,
algumas coisas seriam absurdas em qualquer forma de vida
social humana (por exemplo, estabelecer como obrigação que
cada um mate seu vizinho! Essa espécie de regra implicaria
afinal a autodestruição, antes que a autopreservação de um
64 - Norma, moralidade e interpretação...
grupo social). O que é relevante é que normas existem como
condição necessária de interação, de práticas sociais cuja con-
tinuidade é garantida porque são práticas regradas. Qualquer
um pode entrar no ‘jogo’ e dar continuidade a ele desde que
tenha entendido as regras do jogo.
Assim como foi possível caracterizar uma teoria da nor-
ma com traços particulares, convém indicar os traços mais tí-
picos das teorias da decisão.
O primeiro deles é sem dúvida a centralidade dos proble-
mas de aplicação do direito. Exatamente aquilo que as teorias
da norma descartaram, ora dizendo que se tratava de algo irra-
cional, não suscetível de um ‘ciência normativa’ propriamente,
ora relegando a aplicação a uma zona de penumbra do contexto
aberto de toda norma, a teoria da decisão toma como elemento
central: saber direito é saber decidir segundo o direito, e ensi-
nar direito é ensinar a decidir segundo o direito. O processo
deliberativo é ele mesmo o coração da teoria da decisão. Dessa
forma, a aplicação e a necessária compreensão das normas é
o que se deve descrever, explicar e até mesmo prescrever. Em
outras palavras, uma teoria jurídica da decisão desloca o foco
de visão dos juristas de uma metafísica das regras para o uso
das regras. A pergunta central dessas teorias já não diz: “o que
é a regra jurídica?”; mas: “o que é decidir segundo o direito?”
E logo em seguida: “Esta é uma boa decisão segundo o direi-
to?” Como o uso é adequado ou inadequado, certo ou errado,
conveniente ou inconveniente? Ensinar e aprender direito pas-
sam a ser vistos como transmitir usos adequados das regras
jurídicas. Naturalmente a teoria das fontes do direito limita ou
determina o universo das regras a serem usadas. As fontes do
direito são o limite, as fronteiras do jogo. Mas essa teoria da
decisão pode ser tal que permita uma porosidade entre noções
mais restritas (por exemplo, uma noção legalista) e noções mais
abrangentes (por exemplo uma noção cultural) de fontes do di-
reito. Isso, entretanto, não altera o caráter normativo do direito
e muito menos ainda lhe afeta o caráter prático.
Norma, moralidade e interpretação... - 65
Um segundo traço característico é o tratamento do as-
sunto do ponto de vista do agente, do ponto de vista práti-
co. Neste sentido, a decisão segundo a regra é sempre uma
decisão justificável e por isso mesmo criticável pela regra
mesma. A regra volta a ser régua e medida das ações ou
decisões.11 Regra como medida é então usada pelo agente
tanto para determinar e guiar sua ação, quanto para medi-
la ou confrontá-la com um padrão (retitude, conformidade,
legalidade, constitucionalidade). Estando o agente dentro
de um grupo que pretende ter uma prática compartilhada
– o direito de determinada sociedade – a regra lhe serve
de guia. Ele inicia sua ação guiando-se pela conformidade
com o direito e caso seja chamado a explicar sua decisão
dá razões, isto é, justifica-a por referência a esse padrão.
Os outros, que também entendem a regra e a utilizam, os
que fazem parte dessa comunidade jurídica, desse grupo
que compartilha esses sentidos e essa prática, podem usá-
la também para criticar a decisão alheia. Mostram como a
decisão não se justifica segundo aquela regra. Tanto quem
age quanto quem critica a ação alheia valem-se das regras
como critérios de decisão.
Nestes termos, a teoria da decisão (segundo o direito) é
uma reflexão sobre o discurso de aplicação, de justificação,
de razões para agir e razões para decidir. A teoria da decisão
é uma teoria do raciocínio a partir de regras (regras jurídi-
cas, no caso do direito). A justificação não é tratada como
‘racionalização’ no sentido negativo do termo, ou seja, como
simples encobrimento das razões de agir, encobrimento das
razões ‘más’ por razões ‘boas’ e publicáveis; racionalização
não é tratada como uma forma de mentira, digamos. Justi-
ficação é a exposição das diversas passagens do pensamen-
to de quem aplica e usa a regra. A justificação tem função
analítica nessa altura. O discurso de justificação é o discurso
11 Esse é um objeto longamente desenvolvido em Lopes (2004).
66 - Norma, moralidade e interpretação...
natural da ação explicada:12 quando se pergunta a alguém ‘o
que estás fazendo’, ou ‘por que fizeste isto’, a resposta não é
uma descrição de coisas alheias que se passaram em algum
lugar neutro e alheio (sua cabeça, seu coração, suas entra-
nhas). Trata-se de levar a sério o que Paul Ricoeur chama
de “o discurso pelo qual o homem diz o seu fazer” (Ricoeur
1988, 11). Não se trata de expor simples fatos, mas de expor
intenções, finalidades ou narrativas, isto é, uma série de fa-
tos com uma ordem compreensível por alguém que também
é capaz de ação. A resposta, mesmo dada na linguagem des-
critiva, é uma resposta pelas razões que o levaram a escolher
tal ou qual curso de ação. No caso do direito, essas razões
são normativas, naturalmente, e também naturalmente, nas
sociedades modernas, são razões fundadas primeiramente
no direito positivo.
Ora, o discurso de justificação é reconhecido como parte in-
tegrante do discurso jurídico. Depois de reconhecer que dedução
pode ser usada no raciocínio jurídico, MacCormick inicia uma
discussão a que ele denomina a busca por razões de segundo
grau com os seguintes termos: “Podemos, porém, esgotar as re-
gras sem ter eliminado a necessidade de decidir de acordo com a
lei – ou porque as regras são obscuras, ou porque a classificação
adequadas dos fatos relevantes é controversa, ou mesmo porque
há divergência sobre se há ou não há alguma base legal para cer-
ta pretensão ou decisão jurídica.” (MacCormick 1995, 100-128)
Ora, quando esgotamos as regras precisamos então construir
certo regramento. Fazemos ou não isso? Claro que fazemos e
isso é o terreno próprio da velha conhecida da filosofia clássica,
12 Não estou aqui fazendo a diferença feita por Klaus Gunther entre aplicação e jus-
tificação. Na bem conhecida tese de Gunther, discursos de justificação referem-se ao
fundamento de um princípio ou máxima de ação em abstrato. Justifica-se, por exem-
plo, a proibição da mentira. Aplicação é o momento posterior, depois de aceito o
princípio, no qual o que está em jogo é a predicação do caso e das circunstâncias
concretas. Grosso modo, poder-se-ia dizer que a justificação está na esfera da tópica
ou dialética aristotélica, ou seja, a esfera de discurso em que se determinam as coisas
opináveis; a aplicação está na esfera da retórica, ou seja, na esfera das coisas prováveis
(isto é coisas que se conhecem no geral, mas não no particular: sabe-se que chove,
mas não se sabe se choveu ontem ou se choverá amanhã).
Norma, moralidade e interpretação... - 67
a discussão dialética, literariamente representada nos diálogos
platônicos, e analiticamente decomposta e examinada nos Tópi-
cos de Aristóteles, dos quais voltarei a falar mais adiante.
Isso permite entender como um autor confessadamente
positivista como Joseph Raz trata as normas jurídicas como
razões para agir (Raz 1990, 58-59).13 Essa teoria considera o
discurso de justificação como seu apoio mais importante: não
trata as normas como coisas externas, ou como vontade alheia
pura e simplesmente, mas como verdadeiras razões para agir.
Isso não impede que se considere a vontade do outro como
uma razão para agir, desde que essa vontade não seja pura e
simplesmente uma imposição de fato (pela submissão física,
pelo terror, etc). Caso tal submissão se desse assim, ou mesmo
se desse pela mentira e pelo engano, a razão do outro não
seria um motivo para obediência, mas um simples obstáculo
factual insuperável. Nesse caso, a vontade do outro não se-
ria um motivo propriamente, mas uma causa externa. Aque-
le que explica sua ação por meio da insuperável oposição de
outrem dá uma causa para agir, mas não uma justificativa no
sentido que se pode atribuir apenas à ação livre. Não é por
acaso que o exemplo do assaltante é crucial para explicar a
teoria do direito de Hart. O assaltado que entrega o dinheiro
a um assaltante não pode ser equiparado ao contribuinte que
paga seus impostos ao fisco. O primeiro tem uma causa ex-
terna para sua ação, o segundo tem um motivo internalizado.
Para o segundo, a exigência do fisco é desconfortável e onero-
sa: se ele pudesse, pagaria menos, ou pagaria diferentemente,
mas as razões para participar de uma vida comum em uma
sociedade política são suficientemente boas para fazê-lo en-
13 Raz esclarece em Practical reasons and norms que seu propósito é fazer uma espécie
de teoria das normas, mas o faz considerando normas como uma espécie especial de
razões para agir. E reconhece mais adiante (Raz 1990, 11) que a filosofia do direito faz
parte, junto com a filosofia moral e a filosofia política do âmbito mais geral da filoso-
fia prática, que pode perfeitamente ser tratada como um campo unificado. Daí que
para ele o estudo das normas não deve ser visto isoladamente, mas como parte de
um ‘empreendimento maior’, qual seja, a filosofia prática mesma. Ele chega mesmo a
afirmar que “a filosofia do direito não é nada mais do que a filosofia prática aplicada
a uma instituição social.” (Raz 1990, 149)
68 - Norma, moralidade e interpretação...
tender e aquiescer. O assaltado não tem nenhuma razão para
aquiescer. 14
Assim, ao tratar normas jurídicas como elementos da ra-
zão para agir (ou para decidir), as novas teorias do direito
voltam a valorizar o aspecto propriamente prático do direito.
Se a teoria das normas converteu-se em uma gramática
geral do direito, cujo objeto pode ser analogamente compre-
endido como uma sintaxe das normas, a teoria da decisão co-
loca-se em outro nível do discurso. É uma espécie de pragmá-
tica das normas, mais claramente ainda uma espécie de teoria
do discurso. Embora o discurso pressuponha a morfologia (os
termos) e a sintaxe (as proposições), ele apenas se realiza num
ato sintético que é a articulação de sentidos (semântica) reali-
zada em discursos completos.
Outra vez, isso tem sua importância, pois de modo geral
é preciso saber se o que fazemos quando ensinamos direito é
ensinar morfologia (os conceitos jurídicos), sintaxe (teorias da
norma), ou realização de discursos (decisão segundo o direi-
to). Creio que muitos dos desconfortos sentidos por alguns
professores e provavelmente a maior parte dos alunos reside
nessa incompletude de nossa maneira de ensinar. Esse des-
conforto também se encontra, menos explícito e verbalizado,
nas pessoas comuns. Para estas, os juristas falam um linguajar
incompreensível, sendo que os resultados efetivos desse jar-
gão incompreensível são freqüentemente non senses. Ou seja,
14 A despeito de criticar longamente a formulação de Hart, Raz está muito próximo
de seu mentor quando diz o seguinte: “Normalmente pensamos que as razões para
agir são razões para uma pessoa realizar uma ação quando se derem determinadas
circunstâncias. A realização de uma ação por um agente em dadas circunstâncias
pode ser encarada como um fato, e pode-se pensar que razões são relações entre
fatos. É uma sugestão plausível na medida em que estivermos preocupados em ex-
plicar ou avaliar ações que foram efetivamente realizadas (‘suas razões para agir fo-
ram...’, ‘ele tinha [ou tem] boas razões para agir’, etc.). No entanto, ela não dá conta
das razões para avaliar casos hipotéticos (‘todos nessa situação têm razão para fazer
..’, etc.), nem para guiar o comportamento quando a ação ainda não foi efetivamen-
te realizada. Para dar conta desses casos pode ser tentador encarar as razões como
relações entre fatos reais ou possíveis. Eu gostaria, entretanto, de evitar ser obriga-
do a referir-me a fatos possíveis e, portanto, tratarei as razões como razões para as
pessoas.”(Raz 1990, 19)
Norma, moralidade e interpretação... - 69
do ponto de vista de uma justificação das decisões (e de seus
resultados), parece difícil aceitar que os conceitos jurídicos le-
vem a situação paradoxal, incompreensível ou injusta, como
seja a de tratar desigualmente casos semelhantes, ou de, em
nome da ordem dos conceitos, terminar por ferir estados de
coisas conforme ao direito.
4. Uma última provocação
Os antecedentes historicamente mais imediatos desses
debates encontram-se no formalismo lógico da teoria das
normas e no realismo empírico-sociológico da tradição norte-
americana. Ambas correntes chegaram, por caminhos diferen-
tes, a uma espécie de desqualificação do processo decisório ao
incluí-lo na esfera da vontade sem que houvesse como distin-
guir vontade, arbítrio ou capricho. Embora os autores mais
ilustres de tais doutrinas pudessem até explicar seus termos,
a vulgarização – e lembremos que vulgarização e divulgação
são os meios potentes para expandir idéias entre os iniciantes
mesmo de forma equivocada – de um termo como vontade,
ou idéias como previsibilidade e antecipação das sentenças,
chegaram a conformar mais de uma geração de juristas.
Se, porém, a determinação das decisões jurídicas só pu-
der ser feita por um ato de vontade, concebido como poder
ou capricho, por que deveriam as decisões ser justificadas?
A resposta que se seguia naturalmente era: para enganar os
incautos, para fazer parecer que há razões, para iludir. En-
tão, qual o papel dos requisitos de razão e lógica nisso tudo?
Bem, diriam alguns, a lógica não joga um papel muito grande,
quando muito haveria uma ‘lógica do razoável’, e talvez fosse
mesmo o caso de não falar mais de lógica, mas de retórica. E
se de retórica falássemos não seria então o caso de lê-la sob
a clássica noção aristotélica, segundo a qual a retórica é uma
parte do organon (Ricoeur 1983, 13-20), aquela parte do orga-
non que nos dá as regras de pensamento do provável, antes
70 - Norma, moralidade e interpretação...
que do necessário? Não, respondem as divulgações: a retórica
é a arte da persuasão (ou querem dizer da sedução?) antes
que do convencimento.15
Embora tudo isso possa ser afirmado, a realidade teima
em voltar na forma de pedidos de justificação. E quanto mais
as justificativas e razões se tornam fracas, ou são desmascara-
das, mais vem à tona a necessidade de justificar mais e melhor
as decisões. Creio que foi nessa onda, derivada dessa neces-
sidade de escapar das visões mais realistas – ou talvez devês-
semos dizer mais cínicas – que as teorias da decisão jurídica
voltaram. Essas teorias da decisão naturalmente tiveram que
retornar a alguns conceitos-chave da filosofia prática. Entre
eles o de que há razão onde não há certezas, embora haja dis-
cussão ordenada.
A exposição mais clara dessa percepção encontra-se nos
comentários iniciais que Tomás de Aquino faz à Ética a Ni-
cômaco. Diz ele que razão põe ordem sobre quatro espécies
de campos intelectuais. Em primeiro lugar sobre o mundo
natural que nos é dado: compreendemos esse mundo segun-
do uma ordem e a essa ordem intelectual chamamos filosofia
natural (hoje, as ciências naturais). Em segundo lugar a razão
ordena seus próprios termos, os conceitos e as proposições
entre si, gerando a lógica. Em terceiro lugar a razão põe or-
dem nas coisas que podemos fazer: essas coisas que fazemos
obedecem a certas necessidades, e a razão que adequa meios a
fins, sob a perspectiva das relações entre meios e fins é a razão
instrumental (a técnica e a arte). Há, finalmente, uma ordem
15 Ricoeur (1983, 13-14) chama a atenção justamente para esta redução da retóri-
ca: “A retórica de Aristóteles engloba três campos: uma teoria da argumentação que
constitui o eixo principal e que fornece simultaneamente o nó da sua articulação com
a lógica demonstrativa e com a filosofia (esta teoria da argumentação engloba por si
só os dois terços do tratado) – uma teoria da elocução – e uma teoria da composição
do discurso. O que os últimos tratados de retórica nos oferecem é, na feliz expressão
de G. Genette, uma ‘retórica restrita’, restrita, por um lado, à teoria da elocução, e,
por outro, à teoria dos tropos. (...) Uma das causas da morte da retórica está aí: ao
reduzir-se assim a uma das suas partes, a retórica perdeu simultaneamente o nexus
que a ligava à filosofia através da dialética; perdida esta ligação, a retórica tornou-se
uma disciplina errática e fútil.”
Norma, moralidade e interpretação... - 71
que impomos nos próprios fins e em sua articulação, tanto
para nossa vida individual quanto para vida coletiva, social
ou política. Esse é o campo da ética. Ora, cada um desses
campos é apreensível ordenadamente, ou submetido a uma
ordem racional. Mas em cada um desses campos estamos tra-
tando de objetos muito diferentes. Por isso mesmo, as ques-
tões de filosofia prática (campo que reúne a razão intrumental
e a razão prática moral) não se resolvem com os critérios dos
outros campos.
Quando se percebe que a tomada ordenada de decisões
práticas não é a mesma coisa que a conclusão de um racio-
cínio formal, ganha novamente relevância uma explicação
detalhada do processo decisório. E surgem então coisas bas-
tante distintas a serem consideradas. Em primeiro lugar deve-
se dizer que há realmente algum raciocínio jurídico. Nesses
termos, MacCormick (1995) tem razão ao dizer que é sim
possível deduzir soluções quando tiverem sido eliminadas
dúvidas a respeito do sentido das normas e quando tiverem
sido eliminadas dúvidas quanto aos fatos. Ambos os gêneros
de dúvida, porém, podem aparecer e ambos são enfrentados
de forma diferente. As dúvidas a respeito dos fatos estão na
esfera daquilo que se chamou retórica. Ora, o cerne da re-
tórica, dizia Aristóteles, está na prova: como se prova o que
aconteceu?16 Como se prova o que vai acontecer? Ora, tanto
a respeito do que aconteceu, quanto a respeito do que vai ou
pode acontecer o que se pode ter é apenas uma idéia, justa-
mente, provável, isto é, probabilística. Visto que na maioria
das vezes as coisas se passam assim, é legítimo pensar que
nesses casos, em tudo parecidos com os anteriores, as coisas
vieram a passar-se assim, ou virão a passar-se assim. A retóri-
ca, portanto, diz respeito às regras para o estabelecimento das
premissas de fato, dos juízos sintéticos e de predicação sobre
as coisas que podem acontecer.
16 Utilizei a edição de Jonathan Barnes das obras completas de Aristóteles (Barnes,
John, editor (1995) The complete Works of Aristotle, the revised Oxford translation. Prin-
ceton, NJ: Princeton University Press)
72 - Norma, moralidade e interpretação...
A Retórica foi escrita justamente contra aqueles que se de-
dicavam ao não essencial da arte, ou seja, aos que escreviam
sobre ‘como despertar o preconceito, a piedade, a ira e outras
emoções’ naquele que devesse tomar uma decisão. O coração
da retórica era, para Aristóteles, uma forma de ‘demonstração’
– convincente e persuasiva – sobre o que havia ou não acon-
tecido ou sobre o que haveria ou não de acontecer. E sobre
isso, sobre como se raciocina sobre o contingente, os retores
(sofistas?) não diziam nada. Quando ele diz que a retórica é a
ciência ou arte capaz de descobrir em cada caso o que é capaz
de persuadir, não está se referindo aos modos de despertar
simpatia ou antipatia do ouvinte, mas ao que se pode saber,
e com que grau de certeza (probabilidade) sobre os fatos con-
tingentes, aos modos de persuasão, ou seja, às provas daquilo
que não é necessário. Alguns meios demonstram diretamente,
sem necessidade de ‘raciocínio’, como quando se produzem
testemunhas, documentos, etc. Outros dependem do raciocí-
nio, como é o caso dos sinais (indícios): eles são apenas uma
demonstração indireta. A respiração difícil é um sinal, mas
não necessário, de uma alta febre. Uma mulher dando leite é
um sinal certo de que ela deu à luz recentemente. Nos dois ca-
sos os sinais exigem de quem os vê que complete os fatos com
seu raciocínio, em função do que acontece geralmente. Este
enquadramento da retórica na sua parentela e proximidade
com a lógica é o objeto de todo o livro I.
As dúvidas sobre o sentido das normas são de outra natu-
reza. Não se trata mais de discussão que se possa resolver com
o provável. Trata-se das discussões sobre o opinável. Os diálo-
gos platônicos em geral referem-se a questões assim: o que é o
amor, o que é a ciência, o que é a justiça? Essas questões não são
opináveis porque essas coisas não existem, mas porque uma
vez que alguém coloque em dúvida o conceito, ou o sentido de
uma palavra, já não estamos mais na esfera da pura e simples
dedução (isto é, do raciocínio a partir de princípios ou premis-
sas dadas), nem da retórica (ou seja, da prova de um evento
Norma, moralidade e interpretação... - 73
contingente). Estamos no campo das definições, da determina-
ção do ponto de partida da discussão ou do argumento.
Ora, ao decidir segundo a lei, sempre é possível entrar
em dúvida quanto aos fatos ou entrar em dúvida quanto aos
sentidos da lei, tanto na intensão de seus termos (o que signi-
fica tempo razoável de duração do processo? o que significa
gerir fraudulentamente instituição financeira? o que signifi-
ca vantagem indevida?) quanto na extensão de seus termos
(isto é um caso de duração não razoável do processo? este é
um caso de gestão fraudulenta? este é um caso de vantagem
indevida). Notemos que é sempre possível entrar em dúvida
sobre quaisquer dessas coisas, mas nem sempre a dúvida é
procedente, nem sempre a dúvida é de boa-fé. 17
17 Note-se que Alexy na sua divulgada Teoria da argumentação jurídica refere-se jus-
tamente ao princípio da não contradição aplicado ao processo dialético como condição
de possibilidade de qualquer discussão, ao dizer que “todo falante que aplique um
predicado F a um objeto deve estar disposto a aplicar o mesmo predicado F a qualquer
outro objeto igual” e que “diferentes falantes não podem usar a mesma expressão com
significados diversos”. (Alexy 1989, 185). Isto significa que há regras de lógica e há
regras de sinceridade, e estas não deixam de ser lógicas também. Estas são as regras
mínimas de uma ética do discurso, como a definiu Apel (2000, 286), pelo menos ao re-
ferir-se à exigência de verdade nos discursos: “A norma do discurso verdadeiro, como
mostra Winch, é antes uma condição de possibilidade de todo jogo de linguagem em
funcionamento, e por isso precisa não só ser aceita em toda sociedade, em princípio,
mas também cumprida de certa menaira, caso a comunicação deva ser possível, afinal:
‘the supposition that telling lies could be the norm and telling the truth a derivation
from it is contradictory. And again, if per absurdum the incidence of ‘true’ and ‘false’
statements were statistically random, there could be no distinction between truth and
falsity at all, therefore no communication.’ De maneira semelhante, Winch evidencia
que em princípio não é possível atribuir o acordo mútuo intersubjetivo entre seres hu-
manos em qualquer sociedade, no sentido do estado de natureza hobbesiano ou no
sentido da idéia sofística da retórica, à manipulação recíproca dos indivíduos: ‘for one
can only use words to manipulate the reactions of other men in so far as those others
at least think they understand what one is saying. So the concept of understanding is
presupposed by the possibility of such manipulation of reations and cannot be eluci-
dated in terme of it.’ Afinal, Winch generaliza o cerne de seus exemplos no sentido de
que integrity está para o funcionamento de instituições sociais (para o comportamento
segundo papéis), no mesmo sentido em que um pressuposto imprescindível está como
fair play para a possibilidade de jogar.” A importância desses princípios lógicos são
hoje ressaltadas novamente por inúmeros teóricos do direito. Basta aqui mencionar o
que diz Boyle: “No Livro Gama da Metafísica Aristóteles mostrou que qualquer um que
tente negar esse princípio [da não contradição] seria atingido por uma forma particu-
larmente incômoda de auto-refutação: a própria ignorância. Mas a coisa importante
que essa discussão revela é que até mesmo o princípio evidente mais básico pode ser
negado, mesmo que apenas verbalmente. Claro que é possível e mesmo provável que
74 - Norma, moralidade e interpretação...
Retórica e tópica são os meios de pensar sobre essas coi-
sas, para seguirmos a terminologia clássica.18 A primeira di-
zendo respeito à solução das dúvidas sobre a premissa menor
do raciocínio jurídico, a segunda dizendo respeito às soluções
de dúvidas sobre a premissa maior, isto é, não raciocinando
a partir de princípios, mas raciocinando em direção aos prin-
cípios. Assim, embora sempre se possa falar de dúvidas, as
dúvidas nos dirigem para um caminho que consiste às vezes
em redefinir as coisas. É exatamente isso que Sócrates faz nos
diálogos platônicos: coloca seu interlocutor em dúvida, a pon-
to de este ser obrigado ou a aceitar o ponto de vista contrário
ou a redefinir seus próprios termos. E é isso que se explica
nos Tópicos: a dialética, a discussão dos pontos de partida, é
especialmente adaptada à filosofia.19 Sabemos se a dúvida é
procedente ou não quando o interlocutor está disposto a fixar-
se em alguma opinião inicial da qual possamos partir. Essa
opinião inicial é a mais comum, ou a dos mais sábios, etc. Se,
porém, nosso interlocutor se recusa a isso, se não sustenta até
o fim sua opinião, ou se a cada passo se recusa a responder a
questão posta e apresenta uma nova questão ou opinião sa-
alguém que negue esse princípio creia que não sabe que ele é verdadeiro, pelo menos
até que seja confrontado com a refutação de Aristóteles. Mas é igualmente certo que
tal pessoa conheça o princípio o bastante para fazer uso dele ao afirmar que ele não é
verdadeiro. O princípio permanece implícito no seu ato de afirmar ou negar, mas está
presente em sua atividade cognitiva, embora não formulado como uma proposição. A
possibilidade levantada pelo status do princípio da não-contradição (...) pode ser leva-
da aos princípios da razão prática (...). Essa extensão é particularmente plausível com
relação ao que Tomás de Aquino chama de primeiro princípio da razão prática: que o
bem se faz e o mal evita-se. Pois este princípio, como o princípio da não-contradição,
não funciona normalmente como uma premissa no raciocínio prático. (…) Os princípios
podem estar presentes e funcionar dentro do conhecimento sem serem expressamente formula-
dos.” (Boyle 1994, 25, ênfase minha)
18 No Brasil, uma das melhores sínteses da tradição aristotélica encontra-se em Por-
chat Pereira (2001). Não se confunda, pois, a tópica (o raciocínio aplicado em busca
dos pontos de partida), com a retórica (o raciocínio aplicado à descoberta das coisas
contingentes), ou com a lógica (o raciocínio a partir de premissas certas). Viehweg
não é claro sobre esse ponto (cf. Viehweg 1979, 24) ao concluir que da maneira como
apresentada por Aristóteles o objeto central da tópica “constitui uma questão retóri-
ca”. Seguindo essa linha, parece estar entre nós Tércio S. Ferraz Jr. ao afirmar também
que as argumentações dialéticas são retóricas (Ferraz Jr. 1988, 298). Na filosofia clássi-
ca as coisas são perfeitamente distintas, como explicado por Porchat Pereira.
19 Cf. Porchat Pereira 2001, 355-370.
Norma, moralidade e interpretação... - 75
bemos que não está disposto a raciocinar junto. Melhor, diz
Aristóteles, é tratá-lo como a um vegetal.20
Quando aceitamos a idéia de que o direito é um saber
prático tanto o ensino quanto o exercício do direito ganham
realces muito diferentes daqueles adotados pela perspectiva
fornecida pela teoria das normas. Enquanto saber pode ser
transmitido e verbalizado, e enquanto prático diz respeito à
tomada de decisões justificáveis pelo próprio agente. Como
isso se reflete no ensino e na prática?
Quanto ao ensino, ganha especial relevo a habilidade (ou
habilitação)21 que se pretende transmitir ou desenvolver nos
alunos, qual seja a de tomarem decisões. Para usar um racio-
cínio analógico: o ensino do direito pode ser assemelhando
ao ensino de uma língua, na qual o domínio da gramática, da
morfologia e da sintaxe, está a serviço da produção de discur-
sos. É pelos discursos que sabemos se o falante domina ou não
o sistema da língua. Como discursos são produzidos em situ-
ações particulares, é também a capacidade dos falantes de se
referirem ao mundo de forma sensata e inteligível que precisa
ser desenvolvida. Dessa forma, nossa compreensão teórica do
20 A expressão está no famoso livro Γ (gama) da Metafísica (livro 4, 4): “Evidentemente
então este princípio é o mais certo de todos, princípio este que dizemos a seguir: que
o mesmo atributo não pode pertencer e não pertencer ao mesmo objeto sob o mesmo
aspecto. (...) Este é, pois, o mais certo de todos os princípios e responde à definição
dada antes [aquele que qualquer um deve possuir para ser capaz de saber qualquer
coisa]. Pois é impossível que alguém creia que uma coisa é e não é ao mesmo tempo,
como alguns pensam que Heráclito diga; porque uma pessoa pode falar alguma coisa,
sem necessariamente crer nela.” Afirmado este princípio, o da não contradição, o que
fazer com os que o negam ou nele não confiam? O argumento prossegue exigindo que
o interlocutor faça apenas uma afirmação, uma qualquer, não uma afirmação que nos
convença. Basta isso. Mas se ele não fizer, ou fizer seqüencialmente afirmações que
se contradizem, deve ser-lhe recusado o benefício do diálogo: “Podemos demonstrar
negativamente pelo menos que esta visão é impossível se nosso oponente disser apenas
uma coisa; se não disser nada, é absurdo procurar raciocinar com alguém que não ra-
ciocina sobre nada, na medida que se recusa a raciocinar. Pois já se vê que esse homem,
enquanto tal, não é melhor do que uma planta.” (Metafísica, livro IV (Γ), 4)
21 O termo habilitação vem de uma conversa que tive tempos atrás com Carlos Ar-
thur do Nascimento, para quem o hábito, na linguagem tomista, seria melhor ex-
plicado hoje por meio da palavra habilitação e seu exemplo era o da nosso uso cor-
riqueiro da expressão “habilitação para dirigir veículos”. A pessoa habilitada não
nasceu sabendo dirigir um automóvel, mas depois de aprender passou a possuir o
‘hábito’ de dirigi-lo, ou seja, passou a ser habilitada para dirigir.
76 - Norma, moralidade e interpretação...
direito determina nossa maneira de ensiná-lo. Ora, apresentar
a teoria analítica das normas como uma descrição adequada
do direito é um grande equívoco, quando o que entendemos
por direito é a atividade de tomar decisões segundo regras
jurídicas. Não digo que os teóricos das normas – alguns deles
pelo menos – tenham incorrido nesse equívoco, mas há uma
idéia generalizada de que isso é assim, de que as regras jurídi-
cas são o que se deve aprender.
Quanto à prática jurídica, ou seja, a aplicação do direi-
to (por profissionais ou cidadãos) nas situações reais em que
ele é exigido, passamos a destacar o processo de justificação
da decisão com referência às suas próprias circunstâncias. O
famoso caso Ellwanger (HC 82.424-2/RS) julgado pelo Supre-
mo Tribunal Federal oferece um exemplo claro do que estou
falando. O voto do Ministro Gilmar Mendes estende-se dida-
ticamente muito mais para explicar o que é o princípio da pro-
porcionalidade (inclusive com citações de doutrina), do que
para motivar sua decisão. Quem lê o voto tem uma espécie de
aula sobre a definição de proporcionalidade segundo a dou-
trina alemã, mas fica em dúvida sobre os fatos do caso e sobre
como e por que no caso sob julgamento o juízo de condenação
do requerente do habeas-corpus deveria ser mantido. Não há
explicitação longa das circunstâncias do fato, do delito, etc.
Em poucas palavras, o voto está tão preso às generalidades
das definições, que não é fácil extrair dele a ratio decidendi.
Não se gasta tempo suficiente com as qualidades do caso con-
creto que justificariam, ou motivariam, seu enquadramento
nos termos e conceitos longa e didaticamente explicados. Tra-
ta-se de estilo comum nos tribunais brasileiros, devido entre
outras coisas à predominância de uma forma de conceber o
direito como teoria das normas e como teoria explicativa. Ora,
esse esforço é, propriamente, um esforço da razão prática, ou
se quisermos atualizar a linguagem, um esforço de justifica-
ção das decisões. Por que isso seria relevante? Como isso seria
significativo para o debate jurídico?
Norma, moralidade e interpretação... - 77
Como resultado parece claro que pode haver decisões mais
ou menos justificadas, justificadas de modo mais adequado ou
menos adequado. E para dizer isso é preciso ter padrões de
excelência, adequação e bondade que não são dados na esfera
‘regulativa’ da prática, mas na sua esfera ‘constitutiva’.
Claro que com isso já roçamos as fronteiras do direito com
a ciência política e a filosofia moral. Também aqui, entretanto,
não há porque temer esses confrontos. Estou convencido de
que a teoria da decisão é o meio adequado tanto de apresentar
o que é o direito quanto de enfrentar as dificuldades de seu
exercício.
Permitam-me concluir com uma longa citação. Trata-se
de um texto de MacCormick, no qual ele relata sinteticamente
suas dificuldades para traduzir o fragmento do Digesto no
qual Ulpiano define o direito assim: “Iurisprudentia est di-
vinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti
scientia.” Depois de muito considerar o que afinal Ulpiano
queria dizer, MacCormick decide que não é possível compre-
ender a frase senão voltando a reconsiderar o próprio saber, e
aquilo em que consiste saber e conhecer essa coisa, o direito, e
conclui:
É um ponto útil, porém, considerar as implicações desta
visão da iurisprudentia, e portanto daqueles que culti-
vam essa virtude, este ramo especial da phronesis, os iu-
risprudentes. Pretende-se de fato que o direito como es-
tudo de uma vida é mais do que uma ciência: ele pertence
tanto à práxis quanto à techne. Particularmente, poderí-
amos sugerir que o aprendizado do direito que se satis-
fizesse com listar ou repetir ou mesmo apreender todas
as regras e princípios jurídicos afirmados abstratamente
não chegaria à iurisprudentia. Ela consiste nessas regras,
princípios e valores implícitos trazidos a uma situação
concreta, sopesados, equilibrados e finalmente aplicados
para produzir uma resposta a uma questão concreta de
direito que chega (quando bem feita) a ser iurisprudentia
compreendida própria e totalmente. (MacCormick 2001,
81)
78 - Norma, moralidade e interpretação...
Bibliografia
Alexy, Robert. (1989) Teoria de la argumentación jurídica. Madrid: Centro de
Estudios Constitucionales.
Apel, Karl-Otto. (2000) A comunidade de comunicação como pressuposto
transcendental das ciências sociais, in Transformação da filosofia (II): o a priori
da comunidade de comunicação. (trad. Paulo A. Soethe) São Paulo: Loyola.
____________. (2000a) O a priori da comunidade de comunicação e os fun-
damentos da ética, in Transformação da filosofia (II): o a priori da comunidade de
comunicação. (trad. Paulo A. Soethe) São Paulo: Loyola.
Apel, Karl-Otto. (2004) A ética do discurso diante da problemática jurídica
e política: as próprias diferenças de racionalidade entre moralidade, direito
e política podem ser justificadas normativa e racionalmente pela ética do
discurso? (trad. Cláudio Molz) in Luiz Moreira (org.). Com Habermas, contra
Habermas. São Paulo: Landy Editora.
Atienza, Manuel. (2000) As razões do direito: teorias da argumentação jurídi-
ca – Perelman, Toulmin, MacCormick, Alexy e outros. (trad. M. C. Guimarães
Cupertino). São Paulo: Landi.
Barzotto, Luis F. (2007) O positivismo jurídico contemporâneo. 2a. ed. Porto Ale-
gre: Livraria do Advogado.
Bobbio, Norberto. (2001) Teoria da norma jurídica. (trad. F. P. Baptista, A. Su-
datti). São Paulo: Edipro.
Boyle, Joseph. (1994) Natural law and the ethics of tradition. Robert P. George
(ed) Natural law theory: contemporary essays. Oxford: Oxford Univ. Press.
Ferraz Jr., Tércio S. (1988) Introdução ao estudo do direito. São Paulo: Atlas.
Finnis, John. (2003) On the incoherence of legal positivism, D. Patterson
(ed.) Philosophy of law and legal theory. Malden (Ma): Blackwell Publishing.
Gunther, Klaus. (1983) The sense of appropriateness. Albany (NY): State
University of New York Press.
Hart, H. L. (1997) The concept of law. 2a ed. Oxford - New York: Oxford
University Press.
Kelsen, Hans. (1979) Teoria pura do direito.(trad. João B. Machado) Coimbra:
Armênio Amado Ed.
___________.(1986) Teoria geral das normas. (trad. J. F. Duarte) Porto Alegre:
Sérgio Antonio Fabris Editor.
Norma, moralidade e interpretação... - 79
Lopes, José R. de L. (2003) Juízo jurídico e a falsa solução dos princípios e
regras. Revista de Informação legislativa. a 40, n. 160, pp. 49-64.
________________.(2004) As palavras e a lei. São Paulo: Editora 34/ Direito GV.
________________. (2006) Regla y compás. Christian Courtis (org.). Observar
la ley. Madrid: Trotta.
MacCormick, Neil. (1995) Legal reasoning and legal theory. Oxford: Oxford
Univ. Press.
_______________.(2001) De iurisprudentia, J. Cairns e O. Robinson, Criti-
cal studies in ancient law, comparative law and legal history. Oxford / Porland,
Oregon: Hart Publishing.
_______________. (2005) Rethoric and the rules of law: a theory of legal reason-
ing. Oxford: Oxford Univ. Press.
Perry, Stephen. (2000) Holmes versus Hart: the bad man in legal theory.
Steven J. Burton (ed). The path of the law and its influence. Cambridge: Cam-
bridge Univ. Press.
Porchat Pereira, Oswaldo. (2001) Ciência e dialética em Aristóteles. São Paulo:
Editora da UNESP.
Raz, Joseph. (1990) Practical reason and norms. Princeton (NJ): Princeton
Univ. Press.
Ricoeur, Paul. (1983) A metáfora viva. (trad. J. T. Costa e A. M. Magalhães)
Porto: Editora Rés.
___________.(1988) El discurso de la acción. Madrid: Ediciones Cátedra.
Shapiro, Scott J. (2000) The bad man and the internal point of view. Steven
J. Burton (ed). The path of the law and its influence. Cambridge: Cambridge
Univ. Press.
___________. (2006-2007) What is the internal point of view? 75 Fordham
Law Review, p. 1157-1170.
Veach, Henry. (sd) O homem raiconal. (trad. Eduardo F. Alves) Rio de Janeiro:
Topbooks Editora.
Viehweg, Theodor. (1979) Tópica e jurisprudência. Brasília: Ministério da Justiça.
Weinreb, Lloyd. (2008) A razão jurídica: o uso da analogia no argumento jurídi-
co. (trd. Bruno C. Simões) São Paulo: Martins Fontes.
Winch, Peter. (2008) The idea of a social science and its relation to philoso-
phy. London - New York: Routledge.
80 - Norma, moralidade e interpretação...
Variações sobre o conceito de justiça
João Carlos Brum Torres
UCS - UFRGS
1
Compendiada no Digesto (L.I, Título II, 10), a definição de
justiça de Ulpiano — um dos mais clássicos topoi da cultura
ocidental — diz o seguinte:
A justiça é a vontade firme e permanente de dar a cada
um o que é seu.
O enunciado é admiravelmente conciso, tendo a força se-
mioracular de muitos dos antigos brocardos do Direito Roma-
no. Sua análise, no entanto, é mais complexa do que parece à
primeira vista, de modo que não será despropositado, uma
vez mais, tratar de delinear-lhe os traços principais.
A primeira parte da definição delimita o domínio de apli-
cação do conceito justo, estabelecendo que, primariamente,
justo se predica disposicionalmente, ou, mais exatamente, se
predica de um certo estado estabilizado da vontade huma-
na. Este ponto recolhe uma lição de Aristóteles, uma vez que
tanto na Metafísica quanto no livro das Categorias, a justiça é
dada como caso da categoria da qualidade e, mais especifi-
cadamente, como exemplo de um dos subsentidos em que se
pode entender a esta última: o de um traço do caráter, ou he-
xis, por oposição ao que é disposicional apenas fisicamente,
ou, no âmbito prático, o é de maneira passageira ou fortuita-
mente ocorrente.
Presentemente, o que primeiro cumpre destacar é que a
definição de Ulpiano, ademais de fixar ontológica ou meta-
fisicamente aquilo de que se está a falar quando se fala de
justiça, delimitando assim domínio referencial, ou de aplica-
Norma, moralidade e interpretação... - 81
ção conceito de justiça, introduz também um princípio me-
diante o qual lhe será determinado o conteúdo. O que é dizer
que dado um ato prático qualquer — por exemplo, o de pe-
dir ou ordenar algo a alguém, ou o de efetuar uma transação
comercial, ou o de entrar em conflito com outrem, ou o de
tirar-lhe a vida, ou qualquer outra das incontáveis orientações
que imprimimos a nossas condutas nas lábeis circunstâncias
da vida — o respectivo caráter justo ou injusto dependerá de
que, em cada caso, a vontade de quem tenha praticado tais
atos tenha ou não respeitado o princípio que prescreve dar a
cada um o que é seu. Sendo assim, é claro que tal princípio —
cujo caráter deôntico torna-se transparente se, por exemplo,
o refrasearmos na forma do imperativo respeita, promove e
dá o que é o direito de cada um — assume também, primaria-
mente — além do papel epistêmico de facultar a classificação
e a individualização das ações segundo uma certa ordem de
avaliação —, a função metafísico-prática de determinação da
vontade humana segundo um certo modo de ser.
2
Pois bem, fixados assim estas duas dimensões, por assim
dizer, do conceito de justiça, calha bem perguntar que relação
há entre eles e é exatamente isso que faz David Wiggins em
um estudo recente que, aliás, motivou e constitui o pano de
fundo das presentes anotações, ainda que eu dele me vá so-
correr antes para obtenção de instrumentos de análise do que
com a intenção de reconstituir-lhe a análise com fidelidade
exegética.
Wiggins, depois de convencionar que o princípio dar a
cada um o que é seu seja tomado como o sentido A de justiça
e que a disposição nos sujeitos humanos que lhe é correspon-
dente seja identificada como o sentido B do mesmo conceito,
assinala que a relação entre estes é assimétrica, pois parece
evidente que A determina B, mas não o inverso. Consideran-
do que justo é um predicado que se aplica primariamente às
82 - Norma, moralidade e interpretação...
intenções e ações de sujeitos humanos, a observação de Wi-
ggins afigura-se transparente, uma vez que, dada uma série
aberta e contingente de determinações do querer, cada uma
delas será adequadamente considerada justa se tiver respeita-
do o princípio fixado em A, isto é, se, em cada caso, o seu de
cada um tiver sido respeitado. O que é dizer que seremos pes-
soas justas se regularmente respeitarmos o seu de cada um.
Não é difícil perceber, porém, que o princípio em tela, que
A, é vazio, ou mais exatamente, como diz Wiggins, que ele é
um place-holder, ou, como parece que também se pode di-
zer, um índice, uma vez que, por si mesma, a definição nada
tem a oferecer para determinação do que seja o seu de cada
um. Aliás, as traduções padrão da definição de Ulpiano obs-
curecem a dificuldade, pois dizem simplesmente A justiça é
a vontade firme e permanente de dar a cada um o que é seu,
sentença em que desaparece a recorrência da justiça na for-
ma do termo caracterizador jus, que, no entanto, está no texto
original, onde se lê Justitia est constans et perpetua voluntas
jus suum cuique tribuendi de sorte que seria melhor tradu-
zir dizer: A justiça é a vontade firme e permanente de dar a
cada um o que por direito é seu. A elipse da palavra jus nas
versões parece-me uma espécie de pudor conceitual dos tra-
dutores clássicos a quem a determinação recíproca da justiça
pelo direito — ainda mais se expressa pelas palavras cognatas
justitia e jus — pareceria antes um exemplo paradigmático de
circulus in definiendo. No entanto, o efeito saneador da omis-
são de jus nas traduções canônicas é meramente formal, pois
evidentemente resta por saber o que determina o seu de cada
um, e isso, logo se vê, não pode ser reduzido a uma questão
factual, sob pena de convalidação de todos os abusos e, assim,
de irremediável conspurcação do ideal de justiça. Os juristas
romanos, contudo, não tinham esse pudor. Determinar histó-
ricamente porque não, é questão complexa, mas eu temeraria-
mente me arrisco a dizer que não tinham dificuldade porque,
para eles, a chave para a interpretação da fórmula dar a cada
Norma, moralidade e interpretação... - 83
um o que é seu era conhecida, vinculando-se a um pensamen-
to tradicional que encontra na metafísica platônica uma va-
riante paradigmática.
Antes de examinar esse ponto, convém, no entanto, vol-
tar ao roteiro analítico de Wiggins e sublinhar que, admitindo
que A seja um place holder, é indispensável introduzir um ter-
ceiro sentido de justiça, a ser denominado justiça em sentido
C, mediante o qual seja provida uma regra para determinação
material do que seja o seu de cada um. Ou, para continuar
formalmente com o ponto anterior, cuja função é preencher o
espaço vazio marcado pela expressão o que por direito é o de
cada um.
Ora, para o problema de saber como se determina o que
cabe e compete a cada um, a história da filosofia apresenta
várias linhas de solução. Dada a manifesta vastidão e com-
plexidade do assunto, limitar-me-ei aqui a considerar três das
posições clássicas, o que, contudo, farei sem outra ambição
que a de sondá-las brevemente, simplesmente para ver como
ressoam em nossos ouvidos contemporâneos as posições que
Platão, que os neo-contratualistas e que os aristotélicos, ou
neo-aristotélicos, como Wiggins, firmaram sobre o tema. Para
concluir, ademais de esboçar um breve balanço crítico das
posições examinadas, será apresentada uma quarta visão da
questão da justiça, uma visão que eu tenho como fundamen-
tada no patrimônio conceitual do idealismo alemão e do que
deste último me parece restar vivo na filosofia continental de
nossos dias.
3. Platão
A primeira das linhas de análise que eu gostaria de exa-
minar é a de Platão, na qual se encontra o tratamento mais
claro, mais explícito e mais radical do tema da justiça entre
todos os que nos oferece a história da filosofia. Ele compreen-
de não apenas a versão original da definição de Ulpiano, mas
84 - Norma, moralidade e interpretação...
uma resposta direta ao problema da determinação do seu de
cada um. Para comprovar a ascendência platônica do conceito
clássico de justiça, baste referir a seguinte passagem do livro
IV da República:
(....) a justiça consiste em fazer cada um o que lhe compe-
te e não se entregar a múltiplas ocupações (....) 433e Uma
razão a mais, por conseguinte, para definirmos a justiça
como consistindo em conservar cada um o que é seu e
fazer o que lhe compete (....). 433a.
O que mais importa assinalar é a pretensão platônica de
mostrar que o que é devido a cada é determinado em si e bem
antes das relações efetivas entre os homens. Mais exatamente,
o importante é a tese platônica de que a natureza se encontra
na origem da diferenciação das necessidades da vida social
e, ao mesmo tempo, da correlata diversificação dos talentos
e habilidades necessários e capacitados a supri-las. A apre-
sentação mais simples desta tese talvez se encontre nas pági-
nas em que, recorrendo como de costume ao mito, Platão nos
apresenta sua metalurgia metafísica. A passagem mais rele-
vante é a seguinte:
(....) a divindade que vos fez misturou ouro ao nasci-
mento dos destinados a governar aos demais, para que
se tornassem mais preciosos; nos auxiliares acrescentou
prata, bem como ferro e bronze nos agricultores e demais
artesãos. (....) Mas poderá suceder que um pai de ouro
tenha um filho de prata, ou o inverso: um filho de ouro
provenha de pais de prata , e assim por diante em dife-
rentes combinações. Antes e acima de tudo, determinou
a divindade aos dirigentes que sobre nada exerçam suas
obrigações de guardas e zelem com mais cuidado do que
a respeito dos nascimentos e da qualidade do elemen-
to que entra na composição da alma de cada um, e, no
caso de seus próprios filhos trazerem mistura de ferro ou
de bronze, de nenhum modo deverão apiedar-se deles;
mas, como prova de respeito à natureza deles mesmos,
serão transferidos para a classe dos artesãos, ou para a
dos agricultores, como também o inverso: os filhos de
Norma, moralidade e interpretação... - 85
qualquer destes que revelarem traços de ouro e prata, em
homenagem ao seu valor, terão de ser promovidos para
a classe dos guardas ou dos guerreiros, conforme o caso
(....).República, III, 415 b-c.
Na leitura deste texto sublinhe-se, antes de mais, que
da diferenciação hierarquizada das funções sociais e da
pré-identificação dos que, originariamente, são, respecti-
vamente, dotados das qualificações necessárias para bem
executá-las, deriva quase que imediatamente a idéia de que
não se deve tratar igualmente aos desiguais, isto é, a tese
do caráter geométrico da justiça distributiva, que Platão re-
toma com grande clareza nas Leis. Mas o texto deixa claro
também que há um inevitável distanciamento da distribui-
ção natural-ideal de talentos e competências de sua incer-
ta alocação e aproveitamento no mundo sensível, de sorte
que é inevitável que nos guiemos pelo princípio deôntico
segundo o qual deve-se tratar desigualmente aos desiguais.
Sublinhe-se que esta tese não apenas implica, como nota
Monique Dixsaut, que para Platão, a natureza, ao mesmo
tempo em que se identifica ao eidos, faz do nomos o que
cada natureza comporta de ordem e arranjo , mas supõe
também, ademais disso, que no mundo sensível a desor-
dem e o desarranjo são inevitáveis, de sorte que, parado-
xalmente, o natural adquire um caráter incontornavelmen-
te normativo, o estatuto de uma tarefa a ser realizada, cujo
êxito depende criticamente da sabedoria e da pedagogia do
filósofo.
Para o desdobramento da análise presente, porém, o mais
importante é que Platão enfrenta sem hesitação o desafio da
determinação do seu de cada um oferecendo um fundamento
ontológico para a distribuição dos bens políticos — do poder
e das honras —, de acordo com o qual tal distribuição deve-
rá estar baseada nas inquestionáveis diferenças qualitativas
dos indivíduos humanos. É patente, portanto, para voltar à
notação e a grade de análise empregada acima, que no, caso
86 - Norma, moralidade e interpretação...
platônico, o sentido A de justiça é dependente do sentido C
— uma vez que o princípio de respeito ao seu de cada um,
o sentido A de justiça, só adquire conteúdo e aplicabilidade
graças a C —, ao mesmo tempo em que o sentido B — a justiça
como exis, como conduta ordinária dos homens justos — pas-
sa a depender de que da ação político-pedagógica da filoso-
fia resulte o comprometimento de tais agentes com A. Dentro
deste esquema é claro, porém, que o sentido fundamental de
justiça não pode ser, A, a prescrição de dar a cada um o que
é seu, mas antes a ordem natural e idealmente axiológica, C,
que, desigualando os homens, fornece o padrão a ser seguido
quando da aplicação do princípio formal de justiça
4. Interpretações não-metafísicas de C
A esta determinação externa de C, baseada em uma hie-
rarquia de base ontológica, estabelecida, portanto, originária
e independentemente da vontade dos indivíduos humanos,
a filosofia política moderna, ao afirmar o primado do direito
natural sobre a lei natural, veio a opor a tese imanentista e
auto-referencial consoante a qual a medida do seu de cada
um — isto é, o conteúdo da justiça em sentido C — é estabe-
lecida pelos próprios indivíduos. É provavelmente nas teses
hobbesianas de que (i) cada indivíduo tudo pode e a tudo tem
direito e de que (ii) com relação a esta condição fundamental
todos os indivíduos são iguais, que o ponto de vista novo dos
tempos modernos se expressou com mais clareza e com mais
radicalidade. Com efeito, na abertura do capítulo XIV de Le-
viatã lê-se o seguinte:
O direito de natureza que oss autores geralmente cha-
mam jus naturale, é a liberdade que cada homem possui
de usar seu próprio poder, da maneira que quiser, para
a preservação de sua própria natureza, ou seja, de sua
própria vida; e,conxequentemente, de fazer tudo aquilo
que seu próprio julgamento e razão lhe indicarem como
meios adequados a esse fim.
Norma, moralidade e interpretação... - 87
Ponto cujas implicações já haviam sido expressas com
clareza meridiana no capítulo XIV dos Elements of Law, onde
Hobbes, já dissera:
Cada homem por natureza tem direito a todas as coisas,
o que quer dizer que ele pode fazer o que lhe aprouver
a quem lhe aprouver, e tomar posse, usar e desfrutar de
todas as coisas que quiser e puder.
Mas como o próprio Hobbes foi o primeiro a apontar,
uma tal fundação dos direitos individuais leva a um impasse
imediato, eis que a pretensão universalmente compartilhada
de agir de maneira absolutamente livre e de a tudo possuir
faz com que:
(....) este direito de todos os homens a todas as coisas não
é, com efeito, melhor do que se nenhum homem tivesse
direito a nada. Porque há escasso e uso e benefício no
direito de um homem a algo, quando um outro, tão ou
mais forte do que ele, tem direito à mesma coisa.
Portanto, a determinação de C a partir da auto-adjudi-
cação de direitos por parte dos concernidos — isto é, a tese
de que o seu de cada um é determinado performativamente
pelo exercício do poder originário de cada indivíduo humano
de ser a fonte de todo direito — é, não exatamente autocon-
traditória, mas autofrustrante e reciprocamente destrutiva.
Daí segue-se a necessidade prática de celebração de um pac-
to fundamental, isto é, do segundo e usual passo das teorias
do contrato, mediante o qual recria-se imanentemente, por
meio da instituição do soberano, uma instância separada de
estabelecimento e reconhecimento do seu de cada um, vale
dizer um novo fundamento —paradoxalmente interno e ex-
terno — para distribuição e adjudicação da justiça. No caso
de Hobbes, isso levará à transferência do estabelecimento do
seu de cada um para a lei civil, a qual o fixará com o grau de
aleatoriedade que é próprio do modo como se estabelecem
as relações sociais efetivas nas diferentes sociedades. O que é
dizer que a regulamentação de tais direitos compete e é feita
88 - Norma, moralidade e interpretação...
pelos sistemas de direito positivo vigentes em cada uma de-
las, de sorte que a distribuição do lote de cada um será feita
com a indeterminação que é própria ao desenvolvimento das
interações privadas, o reconhecimento dos direitos tendo lu-
gar então com a grande latitude que caracteriza a diversidade
dos perfis distributivos das diferentes sociedades.
Contudo, nas versões mais sofisticadas do pensamento
contratualista, como a de Rawls, assinala-se que, uma vez as-
sumido que a cooperação social deva ser estruturada a partir
de um acordo entre pessoas não somente livres e iguais, mas
também racionais, o problema da justiça imediatamente se
qualifica, passando a ser o de encontrar uma fórmula de es-
pecificação das condições e termos de cooperação social que,
ademais de reconhecer e salvaguardar os direitos fundamen-
tais, satisfaça certos padrões de razoabilidade distributiva, se-
não auto-evidentes, pelo menos passíveis de serem facilmente
compreendidos e aceitos por homens comuns, cientes de seus
interesses e convencidos da inelutabilidade do convívio coo-
perativo
Não é difícil de ver que nesse horizonte de análise os prin-
cípios de organização da sociedade são endogeneizados, de
sorte que o caráter justo que eles venham a assumir passa a
depender, não de qualquer medida externa, como no caso pla-
tônico, como acabamos de ver, mas antes do que os cidadãos
transacionarem e entenderem como a todos melhor convin-
do. O recurso metodológico ao chamado véu da ignorância
— isto é, a idéia de que a avaliação das condições de convívio
equitativo seja feita sem consideração das posições em que
os indivíduos realmente se encontram — garante que o pro-
cedimento não envolverá nenhuma barganha, nem terá por
objeto uma distribuição determinada de bens, seja na forma
da repartição de um estoque, seja na alocação de um fluxo de
ingressos. Ao contrário, a idéia rawlsoniana é de que a deter-
minação do sentido C de justiça — a fixação daquilo que por
direito é o seu de cada um — deve ficar por um lado material-
Norma, moralidade e interpretação... - 89
mente aberta e indeterminada, podendo ser qualquer resulta-
do do que a distribuição aleatória de competências e talentos,
assim como as contingências sociais, vierem a produzir; mas,
por outro lado, tem que ser formalmente enquadrada e cons-
trangida pelos dois grandes princípios propostos na Teoria da
Justiça, os princípios da igualdade e da diferença. O que é
dizer que o seu de cada um e, portanto, o padrão da justiça
será, por um lado, o que resultar da dinâmica das interações
sociais, resultado este que só será justo, porém, se respeita-
dos os princípios da igualdade e da diferença, o primeiro, as-
segurando o direito de cada pessoa à mais ampla liberdade
possível que seja compatível com liberdade equivalente por
parte dos demais e o segundo estipulando que as desigualda-
des econômicas e sociais só serão legítimas e, portanto, acei-
táveis se organizadas de modo a que sejam simultaneamente
passíveis de (a) gerarem expectativas razoáveis de que sejam
vantajosas para todos e (b) dependentes de posições e ofícios
abertos a todos.
5. A justiça segundo uma visão neo-aristotélica
A terceira das visões da justiça que me importa considerar
aqui subverte radicalmente os termos da discussão preceden-
te e abre um outro horizonte para a discussão do conceito de
justiça. Não se trata de que os neo-aristotélicos recusem a de-
finição clássica, tal como recolhida no Digesto e nas Institutas
de Justiniano. A mudança profunda trazida por essa outra vi-
são do ponto é interna e decorre de uma proposta de inversão
do modo em que se deve conceber as relações entre os três
sentidos do conceito de justiça que, seguindo a Wiggins, dis-
tinguimos acima.
A idéia aqui é que em vez de conceber a justiça no senti-
do B (isto é, a disposição dos homens de agirem justamente)
como diretamente dependente do princípio de respeito ao seu
de cada um (o sentido A de justiça) e indiretamente do conte-
90 - Norma, moralidade e interpretação...
údo que o sentido C venha a conferir ao sentido A, devemos
nos dar conta que entre os sentidos A e B de justiça a relação
é muito mais direta e, na verdade, independente do modo
como é disposta a estrutura básica da sociedade, para usar a
expressão de Rawls. Wiggins introduz esta tese dizendo:
(....) o que a justiça (B) precisa ver na justiça(A) (....) não é,
pace o Professor Rawls, uma abstração da geometria social
ou alguma propriedade ‘da estrutura básica da sociedade’,
mas antes coisas como: a necessidade de um ato que devol-
va a Peter, o que é a sua parte; a necessidade de um ato que
devolva a Paul a situação em que ele se encontrava antes
de ter sofrido a injúria ou a perda que sofreu; a preocupa-
ção que toda pessoa justa terá de que o agressor de Paul
seja punido; o cuidado que toda pessoa justa(B) terá em que
todo esforço meritório não seja ignorado; a preocupação
que toda pessoa justa(B) terá em que a carga principal dos
impostos (mas não que cada parte da carga tributária to-
tal) não recaia sobre os cidadãos que se encontrem em pior
situação para suportá-la, etc. Aquilo que uma pessoa jus-
ta no sentido da justiça(B) vê na justiça(A) é um somatório
de obrigações, de preocupações, de expectativas (de si, dos
outros, dos magistrados) que só são compreensíveis para
quem for justo no sentido da justiça(B).
Ora, este ponto de vista implica primeiramente em dizer
que o presumido vazio que caracterizaria o principio formal
da justiça tal como implicado pela definição de Ulpiano é
muito menos grave do que as visões anteriormente examina-
das pensavam, pois basta que se atente para as circunstâncias
concretas em que cabe falar de justiça para que o seu de cada
um se torne concretamente visível. Como exemplificado na
passagem recém citada, basta que se veja o roubo de que Pe-
dro foi vítima para que a prescrição de dar a cada um o que
é seu adquira um sentido pleno, evidenciando-se assim que a
vacuidade que as visões alternativas querem imputar ao con-
ceito geral de justiça é simplesmente o efeito de uma visão
abstrata do ponto, uma consequência de que a questão está
sendo examinada de sobrevôo, alheiamente às circunstâncias
Norma, moralidade e interpretação... - 91
reais em que a justiça torna-se uma questão viva. A lição dos
neo-aristotélicos é então, para usar as expressões muito em
voga de que serve-se Wiggins, a de que a justiça deve ser de-
terminada, não de cima para baixo, top-down, mas, bem ao
contrário, botton-up, de baixo para cima.
No entanto, o ponto mais interessante da posição neo-
aristotélica não é esta demonstração de que o alegado caráter
vazio do conceito clássico de justiça é um falso problema, a
tese de que, pragmaticamente considerada, a determinação
extensional do justo é simplesmente óbvia. O aspecto mais
sutil e mais forte da tese neo-aristotélica se encontra antes na
proposta de reversão da relação entre os sentidos A e B de jus-
tiça, na tese de que não é o reconhecimento do princípio geral
de que deve dar-se a cada um o que é seu que serve de base e
orientação às condutas justas, mas antes que são estas últimas
que tornam possível tal conceito de justiça. O que é dizer que
o roubo de que foi vítima Pedro não deve ser visto primária e
originalmente como um caso de violação do princípio que nos
comanda dar a cada um o que é seu, mas precisa ser reconhe-
cido antes como o lugar a partir do qual tal princípio pode ser
originado, isto é, deve ser visto não simplesmente como um
caso de instanciação do conceito de justiça, de determinação
contextualizada de sua referência, como uma exemplificação
extensional dele, mas antes como a condição de determinação
do próprio sentido de justiça. Embora os neo-aristotélicos não
explicitem o ponto, parece que nesta altura nos encontramos
em uma zona de indiferença entre por um lado o reconheci-
mento da justiça e da injustiça como propriedades objetivas
do mundo e, por outro, como o resultado de uma capacidade
de ver as coisas assim, à maneira, aliás, do que ocorre no caso
da percepção das cores, como sugere John McDowell.
Resta, por certo, para os neo-aristotélicos a questão de
como posicionar-se frente a C, isto é, com relação ao modo em
que do ponto de vista macro, da organização geral da socie-
dade, será determinado, conforme a justiça, o seu de cada um.
92 - Norma, moralidade e interpretação...
A resposta de Wiggins é de que isso será feito pela agregação
das condutas, as quais passam a ser vistas assim como consti-
tuidoras do próprio vínculo social. Ou, em suas próprias pa-
lavras:
A unidade subjacente à soma dos atos de satisfação e aten-
dimento dessas diversas exigências reside em que estes,
singular e coletivamente, são, em parte, constituidores do
laço social, ou lhe são pré-requisito. Atos e resultados só
podem ser justos no sentido da justiça(A) se, e na medi-
da que, puderem ser reconhecidos por aqueles que forem
justos no sentido da justiça(B) como pré-requisitos [da jus-
tiça]. Pode parecer que a efetivação cívica dessa soma de
obrigações, expectativas e preocupações, por carecer da
beleza formal de um desenho mais amplo da geometria
social, ou da estrutura básica de uma sociedade bem–or-
denada, não é nem um pouco edificante, nem heróica ou
magnífica. Mas ela tampouco é questionável.
6. Observações conclusivas
Em uma passagem ao início de Rescuing Justice & Equali-
ty, Gerald Allan Cohen, acrescentando a auto-suficiência que
frequentemente se vê nos autores anglo-saxões uma boa dose
de esnobismo, apresenta seu desacordo com os rawlsonianos
como originado no fato de que ele era um homem de Oxford
e eles homens e mulheres de Harvard, a diferença estando em
que “a gente de Oxford de seu tempo (of my vintage) não
pensa, como a de Harvard, que é possível tomar distância dos
juízos pré-filosóficos pertinentes.”
Ora, eu gostaria de concluir estas notas ensaiando mos-
trar como esta problemática toda pode ser vista não pro-
priamente da ótica da Sorbonne, em contraste com Oxford
e Harvard, como recomendaria a estrita simetria, mas, mais
alargadamente, segundo o que me parece ser um ponto de
vista geral da cultura filosófica continental, especialmente
francesa. Estou convencido, com efeito, de que a mudança de
Norma, moralidade e interpretação... - 93
coordenadas que tenho em vista, permite não só divisar o que
há de insatisfatório nas análises consideradas até aqui, mas,
mais do que isso, esclarecer qual é o plano em que a questão
da justiça tem que ser colocada e que limites há para qualquer
tentativa de resolvê-la.
Para avançar nessa direção, um primeiro registro a fazer é
que o partido neo-aristotélico de fazer da avaliação dos casos
concretos base para uma discussão geral sobre a justiça, impli-
ca uma inaceitável complacência com relação às contingências
históricas. Para um juiz, tomar a distribuição de direitos como
dada previamente é uma pressuposição natural e necessária,
sem a qual, aliás, não haveria como avaliar o caso concreto e
proferir o julgamento. No entanto, assumir em uma discussão
filosófica sobre a justiça que a questão do justo só pode ser co-
locada adequadamente sob a pressuposição de uma já sempre
dada distribuição de direitos no meio social implica ignorar a
existência de uma dinâmica dos direitos — uma dinâmica que
as revoluções tornam brutalmente evidente, mas que é também
muito clara em qualquer reformismo minimamente ambicioso.
Na verdade, somente o conservadorismo mais empedernido e
injustificável pode deixar de reconhecer que o estabelecimento
dos direitos humanos tal como hoje os concebemos começou a
ser estabelecido pelas grandes revoluções do século XVIII, que,
especialmente no caso francês, começaram por subverter a dis-
tribuição de direitos então vigentes, abolindo direitos feudais,
determinando a queima dos registros correspondentes, para
não falar da desapropriação dos bens do clero e demais atos
revolucionários que se seguiram ao 4 de agosto de 1789.
No presente contexto, importa por em destaque, porém,
não somente esta evidente força normativa da história — por
si só, por certo, já altamente significativa —, mas também a
lição metodológica que daí se segue: a constatação de que nos
fatos brutos da mudança de direitos estabelecidos se revela
a inanidade, a falta de sentido, do projeto de fazer do ponto
de vista do juiz e da prestação jurisdicional a base a partir da
94 - Norma, moralidade e interpretação...
qual deve ser filosoficamente elucidado o conceito de justiça.
E isso, afora outras razões mencionadas adiante, porque, nas
circunstâncias críticas em que se criam e instituem direitos, a
figura do juiz, a justiça encarnada, para usar o termo de Aris-
tóteles, não está e não pode estar presente.
Para quem se coloca em uma perspectiva normativa con-
vencional, esse apelo à história pode provocar não mais do
que um dar de ombros e a observação simples de que nenhu-
ma revolução tem o condão de transformar o injusto em justo
e que o que decide a existência da justiça no mundo não é a
força política que impõe o direito positivo, mas uma dimen-
são normativa sobre a qual oportunamente se estava discutir
nas considerações anteriores e a qual agora parece que se está
inconsequentemente a querer renunciar, esquecendo que o
universo normativo é absolutamente alheio e imune tanto à
abolição e criação histórica de direitos nos ordenamentos jurí-
dicos positivos, quanto às reações irracionais que a atribuição
de demasiado interesse a tais mudanças pode suscitar. E se
poderia mesmo acrescentar que é exatamente quando con-
frontado com tais mudanças na geometria social que uma vi-
são normativista como a de Rawls ganha toda sua força, pois
é a partir dela justamente que poderemos avaliar a qualidade
normativa das modificações jurídico-sociais trazidas pelas
grandes mudanças históricas e, portanto, determinar o cará-
ter justo ou injusto do próprio processo de geração histórica
de direitos. O que é dizer nos termos da convenção de análise
empregada acima, que nenhum desenho positivo e empírico
do sentido C de justiça, nenhum processo histórico de deter-
minação do que seja o seu de cada um em uma dada socieda-
de terá o condão de conferir a qualquer padrão distributivo
assim estabelecido o caráter de justo.
No entanto, quando se leva verdadeiramente a sério o
processo real de instituição de novos direitos, é inevitável
considerar regras abstratas de determinação do justo como,
por exemplo, as propostas por Ralws, como uma receita de
Norma, moralidade e interpretação... - 95
filósofo, abstrata e externa à dinâmica real de conformação
dos direitos e dos juízos práticos em que se confrontam as
concepções do que é justo. O registro desse sentimento pode
ser interpretado, é claro, já vimos, simplesmente como a ma-
neira errada de elaborar as inevitáveis frustrações trazidas
pelo descompasso entre o que é e o que deve ser; como a inde-
vida transformação da frustração com a rebeldia dos fatos às
injunções normativas em viciosa razão de descrença na auto-
suficiência do universo normativo. No entanto, na insatisfa-
ção a que aludi acima creio que há muito mais do que isso. Na
verdade, estou convencido que ali se encontra uma espécie
de inarticulada certeza de que a relação entre a justiça e a ins-
tituição de direitos pode ser interna e, aliás, é isso, que, para
concluir, precisamos tentar entender melhor.
Neste passo, porém, paradoxalmente, creio que é preci-
so fazer meia-volta e retornar ao neo-aristotelismo, mas desta
vez de maneira menos esquemática e superficial do que há
pouco, para refletir uma segunda vez sobre a idéia de que a
justiça, mais do que por qualquer princípio abstrato, se deixa
entender é a partir da decisão judicial.
Acima descartamos esta idéia, alegando que descobrir o
justo a partir do caso concreto pressupõe que haja um direito
pré-existente, o que não é em absoluto o caso em situações
em que o que está em questão é a criação de novos direitos,
eis que nestas últimas circunstâncias não só não têm os juízes
o poder necessário para decidir, mas é a clarividência isenta
de seu julgamento que se torna inútil pois o que precisa ser
visto não é visível e, propriamente, não há o que ver. Todavia,
a concepção aristotélica do trabalho do juiz é muito mais sutil
do que essa reconstituição parcial dá a entender, pois se bem a
interpretarmos nos daremos conta que ela não pressupõe que
a medida do caso concreto preceda —ainda que idealmente —
à decisão judicante, senão que sustenta, muito diferentemen-
te, que cabe ao juiz que julga com equidade gerar a inédita
medida do caso concreto que tem ante si.
96 - Norma, moralidade e interpretação...
Ora, sendo assim, bem se pode pensar que o trabalho do
Legislador — como, aliás, o de todos quantos reivindicam di-
reitos racionalmente —, é análogo ao trabalho do juiz, uma
vez que este último, como acabamos de ver, para decidir com
equidade, além dos direitos de que já são titulares as partes em
conflito, precisa ponderar uma certa relação que estas man-
tém entre si, cuja medida resultará de sua sentença, a qual, se
verdadeiramente equitativa, editará inauguralmente a norma
particularizada mediante a qual será estabelecida uma nova
relação de direito. Repare-se ainda que a relação inversa — a
idéia de no momento crítico da decisão judicial o modelo a
que apelará o juiz seja o do Legislador — , foi expressamente
notada por Aristóteles. Aqui, porém, o que importa notar,
mais do que essa relação especular, é que o Legislador como o
Juiz, não obstante irremediavelmente lançado no vácuo da lei,
não pode e não deve avançar ignorando as relações existentes
entre aqueles para quem legisla, nem despreocupado do esta-
belecimento de um equilíbrio racionalmente justificado entre
os interesses e posições destes últimos.
Nesta altura convém notar, todavia, que há um limite
para o prolongamento da comparação que estamos a fazer
e isto menos porque a decisão legislativa, diferentemente da
sentença, sendo geral, alcança um número indeterminado de
pessoas, mas muito mais porque o indeterminado sobre o qual
ela é compelida a avançar tem uma outra profundidade e uma
abstração que a decisão judicial por definição não possui. O
problema de legislar justamente está em que a verdadeira ino-
vação legal, embora não deva ser arbitrária, é absolutamente
não parametrizada.
Ora, nesta altura o fantasmático interlocutor normativista
com quem venho dialogando poderia muito bem lembrar que
é precisamente para enfrentar esta dificuldade que um filó-
sofo como Rawls dedicou sua vida a construir uma teoria da
justiça, cujos princípios fundamentais não pretendem outra
coisa senão, exatamente, servir como parâmetros para deter-
Norma, moralidade e interpretação... - 97
minação do justo, seja na avaliação das instituições, seja na
edição dos atos legislativos que as fundamentam.
Todavia, sem negar nem o mérito da análise rawlsoniana,
nem a possibilidade de que ela possa efetivamente vir a servir
como referência para juízos prático-políticos efetivos, o que
agora me importa assinalar é que ela, malgrado a aparência
em contrário, não escapa e não pode escapar de uma inde-
terminação de princípio, da indeterminação que é o limite —
creio que é bem o caso de dizer — transcendental da idéia de
justiça.
À primeira vista, os dois princípios fundamentais de Ra-
wls parecem estar colocados acima das contingências his-
tóricas e poderem ser considerados como expressões puras
de uma racionalidade genuinamente normativa. Contudo,
quando bem compreendidos torna-se transparente que eles
pressupõem certas convicções morais densas, cuja validade
longe de fundarem, é por eles pressuposta. Assim a idéia
de que com relação à posse de direitos fundamentais uma
igualdade não simplesmente formal, mas efetiva, é preferível
às desigualdades derivadas de uma provisão de titulações
jurídicas historicamente estabelecidas e distributivamente
desiguais; ou a idéia de que, no caso do segundo princípio,
as desigualdades distributivas são aceitáveis desde que con-
tribuam para a melhoria da situação dos que se encontram
em pior posição, supõe que os valores morais expressos por
tais opções sejam aceitos e aceitos por razões independentes
dos princípios destinados a salvaguardá-los. Ocorre, porém,
que tais pressuposições morais, ademais de se encontrarem
sujeitas a controvérsias doutrinárias bem conhecidas — como
se vê, no primeiro caso, por exemplo, na crítica de Nozick ao
princípio de igualdade de oportunidades, ou, no segundo
caso, nas críticas de G.A Cohen ao princípio da diferença —,
são, manifesta e muito mais importantemente, afetadas por
uma contingência ineliminável, decorrente de que as institui-
ções e as intuições normativas ali presentes são historicamen-
98 - Norma, moralidade e interpretação...
te constituídas. Para não dar senão um exemplo conhecido
e eloquente de quão historicamente datada é a valorização
incondicionada da igualdade de direitos entre os homens bas-
te lembrar que na Atenas clássica igualdade cidadã coexistia
harmonicamente com a escravidão e com a absoluta falta de
direitos políticos das mulheres, ou ainda, no mesmo diapa-
são, que a plena superação de limitações políticas fundadas
no gênero é extremamente recente.
Hegel terá sido o primeiro filósofo a levar na devida con-
ta a historicidade do normativo e, a propósito, Jean François
Kervegan, no excelente artigo que dedicou à comparação de
Tocqueville e Hegel, chamou recentemente atenção para os
textos da Enciclopédia em que Hegel ao mesmo tempo em
que recusa qualquer fundamento natural para a liberdade e
igualdade enquanto conceitos políticos fundamentais, afirma
da maneira mais enfática possível o caráter social, jurídico e
político de sua instituição. A passagem mais eloquente sendo
provavelmente a seguinte:
Antes de tudo, no que toca à igualdade, a proposição
corrente de que ‘todos os homens são iguais por nature-
za’ encerra o mal-entendido de confundir o natural com
o conceito; deve-se dizer que por natureza, os homens
são, antes, somente desiguais. (....) Mas que esta igualda-
de esteja presente, que seja o homem — e não somente
alguns homens, como na Grécia, Roma, etc. — que se re-
conheça como pessoa, e faça valer legalmente, eis algo
que é tampouco por natureza que antes é só produto e
resultado da consciência do mais profundo princípio
do espírito, e da universalidade e avanço cultural dessa
consciência.
Bem entendido, a autoridade de Hegel, por si só não anu-
la a ponderação normativista e este poderia muito bem dizer,
para tomar de empréstimo uma formulação de Robert Pippin,
que, tudo bem pesado:
(....) ao fim deste caminho encontra-se somente a sociolo-
gia histórica ou a história do que as comunidades assu-
Norma, moralidade e interpretação... - 99
miram como sendo normativamente suficiente, não uma
explicação de tal suficiência.
No entanto, estou convencido de que esta crítica erra pro-
fundamente, pois lhe escapa inteiramente a verdadeira natu-
reza das relações entre as normas e o tempo. A verdade é que
a historicidade do universo normativo não é contingente nem
externa. Este ponto, que é a melhor lição do idealismo alemão,
o devemos sobretudo a Hegel. Apresentar circunstanciada e
adequadamente suas análises é inteiramente impossível neste
final de comunicação, de modo que não há alternativa senão
apresentar, da maneira mais direta e bruta, a tese principal:
a de que o universo normativo é necessariamente posto e de
que, portanto, é necessário repudiar toda e qualquer tentativa
de radicá-lo em elementos externos, sejam estes concepções
teológicas, estruturas ontológicas antecedentes, ou princípios
racionais objetivos e intemporais.
É preciso acrescentar também que este conceito de posição
é indissociável do conceito de vontade e que nele se recolhe —
num registro fundacional, inteiramente alheio às circunstân-
cias empíricas — a lição antiga, expressa por Juvenal — aliás
evocada por Kant, numa passagem culminante da Crítica da
Razão Prática — consoante a qual sit pro ratione voluntas, ou,
como a expressa Hobbes, aqui the will stand for a reason, ou,
como traduz Sorbière ao francês, le commandement tient lieu
de raison suffisante. Esta lição é, no entanto, sutil, e certamen-
te não deve ser interpretada como a afirmação de que toda
instituição de direitos é arbitrária, ou, como a rosa de Angelus
Silesius, sem porquê.
O sentido profundo dessa lição é que é impossível conce-
ber a existência de direitos senão pressupondo que direitos só
podem existir na experiência de um ser capaz de reivindicar
direitos e de assim abrir, desancoradamente, o universo irre-
dutível do normativo. No entanto, se a vontade neste momen-
to fundador da normatividade faz suficientemente às vezes
de razão, isto não significa que ela escape completamente às
100 - Norma, moralidade e interpretação...
exigências do princípio de razão suficiente, o qual, como Hei-
degger mostrou com profundidade inexcedível, é, incontor-
navelmente uma exigência de oferecer razões, é o principio
reddendae rationis, de sorte que a vontade instauradora de
direitos está inelidivelmente submetida à exigência de dar as
razões de determinação de seu querer.
Sendo assim, toda determinação do sentido C de justiça,
todo esquema real de distribuição de direitos, se encontra sub-
metido à exigência normativa contida no sentido A de justiça,
isto é, à exigência de dar a cada um o que é seu, norma esta
que, contudo, se funda na capacidade dos homens de afirma-
rem e reivindicarem seus direitos e na necessidade de que tais
afirmações e reivindicações sejam submetidas a regras e prin-
cípios de adjudicação e reconhecimento social positivamente
estabelecidos. Tais esquemas distributivos — que poderão es-
tar fundados em valores fundamentais distintos, como a con-
tribuição social de cada um, titulações prévias eventualmente
reafirmadas, uma presunção de igualdade cidadã rigorosa, ou
o que seja — muito embora dêem por resolvida concretamen-
te a determinação do seu de cada um nas situações concretas
e conquanto, num certo sentido, se assumam e tenham que
funcionar como centros efetivos de estabelecimento dos di-
reitos, precisam ser vistos, quando considerados do ponto de
vista filosófico, simplesmente como instrumentos vicários de
uma ordem necessariamente presumida como dada e irrecor-
rível, muito embora sejam, efetiva e legitimamente sujeitos a
questionamentos teóricos e práticos que, eventualmente, os
obriguem a dar suas razões e cujo desfecho pode ser, e mui-
tas vezes é, transformações profundas no direito existente e,
portanto, no modo em que uma dada sociedade é considerada
como justa ou injusta. O que é dizer que toda ordem social e
que todo direito estabelecido são, por princípio, necessaria-
mente abertos e sujeitos a questionamentos imprevistos e im-
previsíveis, os quais, pelo menos enquanto questionamentos,
são sempre legítimos.
Norma, moralidade e interpretação... - 101
Permitam-me, para terminar, citar a Cornelius Castoria-
dis que, seguindo a Aristóteles, pensou com grande profun-
didade a problemática com que gauchement me debati nesta
comunicação, e que faz o ponto desta discussão nos termos
seguintes:
A questão de Aristóteles é a questão política, o enigma
do fundamento da comunidade política, da sociedade
(....), fundamento no qual a questão de fato e a questão
de direito não se deixam separar tão facilmente, e isso
nem na origem nem no fim; questão na qual, de uma
parte, physis e nomos, natureza/finalidade espontânea/
norma/vida regulando a si própria segundo sua eterna
destinação, de uma parte, e, de outra parte, convenção/
instituição mutável, contingente, arbitrária, não podem
ser nem simplesmente identificadas, nem simplesmente
separadas e opostas uma à outra. É a physis do homem
que faz com que ele ponha nomoi, é por sua physis que
ele é animal politico. Mas também toda polis implica um
nomos particular; a politeia (....), inclusive aquela mesma
que Aristóteles considerava como a «a melhor por natu-
reza» (....), contém e conterá sempre nomina estritamente
convencionais (cf. VII, 1 à 6).
102 - Norma, moralidade e interpretação...
A crítica de Carl Schmitt ao
normativismo kelseniano1
Jean François Kervégan
Université de Paris I - Nosophi
De 1920 a 1933, a crise política da República de Wei-
mar vai acompanhada de uma colocação em causa da te-
oria jurídica dominante, a saber do positivismo jurídico
em sua forma clássica, encarnada por Anschutz e Thoma.
Nesse período, um acirrado debate opõe Carl Schmitt e
Hans Kelsen, figuras relevantes, mas ainda, em certo sen-
tido, marginais, pois que elas se voltam, uma e outra, con-
tra o que se convencionou chamar de doutrina dominan-
te2. Eles defendem, além disso, duas posições de natureza
totalmente diferente. Schmitt pretende arruinar o positi-
vismo jurídico que, segundo ele, não é um tipo puro, nem
original do pensamento jurídico 3. Com efeito, ele associa
traços decisionistas a um normativismo ao qual Kelsen
oferece a sua expressão a mais pura, e ele o faz a partir
de um conceito de positividade que se pode qualificar de
metafísica 4. Kelsen, ao contrário, pretende realizar verda-
deiramente o projeto positivista, ao qual seus promotores
e a maior parte dos seus adeptos teriam sido insuficiente-
1 Tradução de Wladimir Barreto Lisboa a partir de HERRERA, Carlos-Miguel (org.).
Le droit, le politique: autour de Max Weber, Hans Kelsen, Carl Schmitt. Paris, L’Harmattan,
1995, p.229-241.
2 É igualmente o caso de Rudolf Smed e de Hermann Heller, outras figuras marcan-
tes da teoria jurídica.
3 Carl SCHMITT, Uber die drei Arfen des rechtswissenschaftlichen Denkens [doravante
Drei Arten], Hanseatische Verlagsanstalt, 1934, p. 29-40, especialmente p. 35.
4 Carl SCHMITT, Théorie de la Constitution [doravante TDC], PUF, 1993, p. 151-155.
Sobre a “metafísica da positividade” de Schmitt, cf. meu livro Hegel, Carl Schmitt. Le
politique entre spéculation et positivité, PUF, 1992, p. 23.
Norma, moralidade e interpretação... - 103
mente fiéis: “A teoria pura do direito é a teoria do positi-
vismo jurídico” 5.
A controvérsia de Schmitt e Kelsen desenvolve-se em
muitos planos. Ela diz respeito, em primeiro lugar, à análise e
à apreciação da democracia parlamentar: à interpretação libe-
ral e pluralista de Kelsen se opõe a tese schmittiana, segundo
a qual, a democracia bem compreendida – incompatível com
a ética liberal da discussão – encontraria, no plebiscito, forma
moderna de aclamação, sua expressão característica6.
Em segundo lugar, ela diz respeito ao problema do
controle da constitucionalidade. É aqui Kelsen quem critica
as opiniões autoritárias ou plebiscitárias de Schmitt. Não é
necessário sublinhar o teor diretamente político que tinha tal
problema em um regime que, em situação de paralisia, sobre-
vivia apenas graças ao uso permanente de medidas de exce-
ção7. Mas o debate também, antes de tudo, é de ordem pura-
mente teórica: ele diz respeito à natureza mesma do direito e
ao estatuto da norma jurídica. É a esse ponto, unicamente, que
será consagrado o que se segue.
A crítica ao “normativismo” forma o núcleo dos dois pri-
meiros capítulos da Teologia Política (1922). Esses dois textos
apareceram alguns meses antes em um conjunto de ensaios
em homenagem à memória de Max Weber, nos seminários
5 Hans KELSEN, “La méthode et la notion fondamentale de la théorie pure du
droit”, Revue de métaphysique et de morale, 41, 1934, p. 204. Cf. igualmente Die phi-
losophischen Grundlagen der Naturrechtslehre und des Rechtspositivismus, p 64-65; Théorie
pure du droit, 2a ed., trad. Thévenaz [doravante TPD I], La Baconnière, 1953, p. 46 ;
Théorie pure du droit, 2 a ed., trad. Eisenmann [doravante TPD II], Dalloz, 1962, p.
147-148; “Justice et droit naturel”, in Le droit naturel, PUF, 1959, p. 119-123.
6 Conforme, por um lado, Carl SCHMITT, Parlementarisme et démocratie, Seuil, 1988,
p. 23 seg., e, de outro, KELSEN, La démocratie, sa nature, as valeur. Économica, 1988.
7 Hans KELSEN, Wer soll der Huter der Verfassung sein? (1931) responde aos textos
de Carl SCHMITT, Der Huter der Verfassung (1931) e “Das Reichgericht als Huter der
Verfassung” (1929); esse último é retomado em
Verfassungsrechtliche Aufsãtze, Duncker & Humblot, 1985, p. 63-109.
104 - Norma, moralidade e interpretação...
aos quais Schmitt assistiu em Munique, no final da 1ª Guerra
Mundial. Essa circunstância não é apenas um fato pitoresco
se lembramos que todo esforço de Kelsen, depois de 1912,
visa precisamente purificar a ciência jurídica de tudo que é
“sociológico”, isto é, de tudo o que não diz respeito à pura
normatividade. Ela explica, em todo caso, que Schmitt possa
qualificar sua própria orientação de “sociológica”8, em um
sentido que se afasta manifestamente do uso corrente. A críti-
ca da epistemologia jurídica, da qual Kelsen é o representan-
te eminente, permite a Schmitt, em contrapartida, construir
o programa de uma doutrina “decisionista” do direito, cujos
contornos permanecem demasiadamente aproximativos9.
Em 1922, a oposição do decisionismo e do normativismo
é apenas esquematizada e apresentada como uma simples
hipótese: “poder-se-ia dizer que existem dois tipos de cien-
tificidades jurídicas [...]”10. É apenas no prefácio da segunda
edição da Teologia Política (1932) e, sobretudo, nos escritos
sobre os três tipos de pensamento jurídico (1934) que ela ad-
quire uma dimensão sistemática. Essas doutrinas são, a partir
de agora, apresentadas como “tipos eternos”11. Essa sistemati-
zação é acompanhada, além disso, de uma relativização, mes-
mo de um abandono, por Schmitt, do decisionismo anterior-
mente reivindicado, em proveito de uma terceira orientação
denominada “tipo institucional”12 ou “pensamento concreto
da ordem”13. A partir de 1933-1934, Schmitt jamais retomará a
profissão de fé decisionista que se exprimia em seus primei-
ros trabalhos, aos quais seu nome permanece o emblema e
de onde a suspeita de que talvez essa proclamação tenha lhe
servido, sobretudo, para diferenciar-se do positivismo e do
normativismo que dominam, segundo ele, a teoria jurídica.
O fato é que se as posições de Schmitt conheceram, tanto no
1 Conforme, por exemplo, Théologie politique [doravante TP], Gallimard, 1988, p. 47.
2 Cf. TP, p. 43-45.
3 TP, p.43.
4 Drei Arten, p. 25.
5 TP, p.12.
6 Drei Arten, passim.
Norma, moralidade e interpretação... - 105
plano teórico, quanto no plano político, flutuações importan-
tes, cuja coerência é às vezes difícil de apanhar, sua oposição
ao “normativismo abstrato”, matriz teórica de todas as “ilu-
sões liberais” jamais foi desmentido. Em certo sentido, é, sem
dúvida, o anti-normativismo que caracteriza, da maneira mais
exata e mais constante, a doutrina de Schmitt.
Essa orientação característica está presente nele bem an-
tes de seus escritos, onde se manifesta pela primeira vez, sem
ser ainda designado como tal, a problemática decisionista, a
saber, bem antes do Politische Romantik (1919) e Die Diktatur
(1921). Ela aparece, com efeito, desde 1912, em Gesetz und Ur-
teil (Lei e Juízo). O propósito do livro, que leva por subtítulo
Eine Untersuchung zum problem der Rechtpraxis (uma análise do
problema da prática jurídica), é mostrar que essa prática for-
ma um domínio autônomo. Enquanto tal, ela requer um crité-
rio específico de justeza e exatidão (Richtigkeit), que não é, de
nenhum modo, dedutível das normas jurídicas, em particular
da lei positiva, e ainda menos de uma lei natural, cujo con-
teúdo, desde a crítica implacável à qual o jusnaturalismo foi
submetido pelo positivismo jurídico, aparece eminentemente
problemático. A obra é, pois, consagrada a uma refutação do
modelo do juiz como Subsumptionsautomat, como máquina de
subsumir casos singulares, a uma ordem normativa supos-
tamente universal e desprovida de lacunas, isso é, completa
e consistente. A decisão exata ou apropriada (richtig), isso é,
justa em um sentido, que não é normativo, não poderia ser
deduzida de um sistema normativo postulado e idealmente
reconstituído pelo jurista positivista. Com efeito, poderíamos
reformular assim o “postulado da determinidade do direito”
(Postulat der Rechtsbestimmtheit), que propõe o livro: o singular
não é, jamais, pura e simplesmente subsumível sob o univer-
sal.
É aqui que aparece o futuro motivo decisionista: por mais
precisamente determinado que sejam seu conteúdo e seu
campo de aplicação, a norma legal comporta um “momento
106 - Norma, moralidade e interpretação...
aleatório”14 irredutível. Em muitos casos, com efeito, a exis-
tência de uma regra é mais importante que seu conteúdo e
suas modalidades. Existe inerente a todo enunciado norma-
tivo um “momento de indiferença do conteúdo.”15 Esse vazio
designa como que em negativo o espaço redutível da praxis e
funda a autonomia, certamente negativa, da decisão singular.
Essa pressupõe, claro, a ordem normativa em vigor, mas ela
não poderia ser dela deduzida, contrariamente ao esquema
positivista da subsunção mecânica, que decorre do postulado
da ausência de lacunas e da completude normativa da ordem
jurídica. Ora, esse postulado não pretende que as leis positi-
vas não possam comportar lacunas. Ele exprime, entretanto, a
convicção formulada por alguns representantes eminentes do
positivismo de que “a ordem jurídica não pode ter mais lacu-
nas que a ordem da natureza”16. Mas essa tese não pode ser
mantida, senão sob a condição de afirmar simultaneamente o
poder discricionário do juiz, isso é, se reconhecemos de fato
à praxis, a autonomia que o culto positivista da norma legal
exigiria recusar.
Essa crítica da concepção reducionista da prática jurí-
dica, que implica o culto positivista da norma, conduz a
uma tomada de posição sobre a primeira obra importante
de Kelsen que havia recentemente sido publicada, Haup-
tprobleme der Staatsrechtslehre, entwickelt aus der Lehre vom
Rechtssatze, de 191117. A crítica é mesurada como se Schmitt
7 Carl SCHMllT, Gesetz und Urteil, Munich, Beck, 1969, p. 48.
8 Gesetz und Urteil, p.67. Schmitt, em apoio a essa idéia, reenvia a Savigny. Ao en-
contro de Hegel (RPh. par. 214) ele sublinha que essa indeterminação não é uma con-
tingência exterior, mas constitutiva do direito como tal.
9 Paul Laband, citado por Karl BERGBOHM, Jurisprudenz und Rechtshilosophie, Lei-
pzig, Duncker & Humblot, 1892, p. 373. A completudo, em princípio, da ordem jurí-
dica é igualmente afirmado por Kelsen: cf. TPD I. p. 142-147; TPD II, p. 329-334. Para
ele, a noção de lacuna não pode designar uma deficiência lógica da ordem jurídica,
impensável diante do princípio segundo o qual tudo o que não é proibido pela lei
está autorizado. Ela traduz apenas uma vontade “política” de modificar a norma
legal vigente sancionando um ato que até então não o era, isso é, criando um novo
ponto de imputação.
17 O prefácio da segunda edição desse livro (Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, en-
twickelt aus der Lehre vom Rechtssatze, Tubingen, Mohr, 19232 [citado Hauptprobleme])
Norma, moralidade e interpretação... - 107
não estivesse ainda certo de sua divergência teórica fun-
damental com Kelsen. Levando em conta a distinção rigo-
rosa que faz Kelsen entre o plano da normatividade e o da
aplicação do direito, Schmitt se contenta em observar que,
na perspectiva de uma “metodologia da prática jurídica”,
que é da Gesetz und Urteil, “tudo o que Kelsen define como
secundário”, notadamente o poder discricionário do juiz
ou da administração, “é essencial”18. A oposição ulterior
está, não obstante, em germe: declarando que a aplicação
do direito não é um problema jurídico, Kelsen se dá, de
modo muito fácil, os meios de fazer valer a tese – que será
constantemente a sua – do caráter puramente normativo
do enunciado jurídico, tomado como Soll-Satz. A afirma-
ção da existência de uma “sistemática puramente formal do
direito objetivo que decorre da construção bem compreen-
dida do enunciado de direito”19, acompanha a eliminação
do problema da operacionalidade efetiva da regra de di-
reito. Assim, ainda que breves e prudentes, as observações
de Schmitt sublinham, antecipadamente, o que será, pare-
ce, uma dificuldade constante da teoria pura do direito, a
saber, o problema da articulação entre validade normativa
(Geltung) e eficácia prática (Wirksamkeit)20. Será preciso vol-
tar a esse ponto.
Se, em Gesetz und Urteil, a crítica de Kelsen é moderada,
isso ocorre, antes de tudo, porque, como o próprio Kelsen su-
blinhou no prefácio da segunda edição do, esse livro não tirou
todas as implicações de seu ponto de partida, a saber “a au-
tonomia do direito como objeto de conhecimento científico”21.
Posteriormente, Kelsen renunciará a dissociação entre a nor-
desenvolve uma análise crítica desse primeiro trabalho e comporta indicações muito
interessantes quanto às pressuposições filosóficas da “teoria pura do direito”, sobre-
tudo quanto às suas relações com o neokantismo.
18 Geset; und Urteil, op. cit., p. 57, nota.
19 Hauptprobleme, p. 269.
20 Cf. TPD I, p. 121-122; TPD II, p. 281-289 (com uma longa nota crítica sobre a realis-
tic jurisprudence de Alf Ross).
21 Hauptprobleme, p. V, p. XIIe seg.
108 - Norma, moralidade e interpretação...
ma jurídica e sua aplicação. A aplicação deve, ela mesma, ser
pensada como parte integrante da ordem normativa, o que
supõe, primeiramente, desenvolver uma concepção rigoro-
samente formal ou procedimental da ordem jurídica e, em
segundo lugar, afirmar a completa identidade dessa ordem
com o Estado22. Mas a moderação de Schmitt manifesta igual-
mente a insuficiência que afeta, de um ponto de vista que será
posteriormente o seu, as investigações de Gesetz und Urteil.
A obra se limita a sublinhar a autonomia da decisão em rela-
ção à norma, enquanto que se tratará, em seguida, a partir de
1920, de afirmar o caráter fundador do momento da decisão
em relação à normatividade jurídica ela mesma: “Toda ordem
repousa sobre uma decisão (...). Mesmo a ordem jurídica re-
pousa, como toda ordem, sobre uma decisão e não sobre uma
norma”23.
Como em 1912, nem o “normativismo” nem o “decisio-
nismo” tinham sido formulados em sua coerência própria, sua
oposição não aparecia nesse momento como insuperável. Em
relação a isso Schmitt e Kelsen seguirão, a partir daí, um cami-
nho análogo. O primeiro radicalizará a autonomia da decisão,
fazendo dela o próprio fundamento da normatividade da nor-
ma, enquanto que o segundo reduzirá o espaço que ele conce-
deu à aplicação das normas, conferindo-lhe, igualmente, um
caráter normativo no quadro de uma concepção “dinâmica”
da ordem jurídica como pirâmide de atos normativos de ha-
bilitação24. Isso leva a suspeitar que a decisão desempenhe em
Schmitt o papel comparável da Grundnorm na teoria pura do
direito. Uma e outra visam garantir a consistência e a comple-
tude da ordem jurídica, evitando, ao mesmo tempo, o risco de
uma regressão ao infinito e o recurso ao axioma jusnaturalista
de tipo clássico.
22 . Hauptprobleme, p. XIII-XIV; Der soziologische und der juristische Staatsbegriff (19282),
Aalen, Scienta, 1962, p. 86-91.
23 TP, p. 20.
24 Hauptprobleme, p. XIV; TP I, p. 114-116.
Norma, moralidade e interpretação... - 109
2
O segundo capítulo da Teologia Política (1922), intitulado
“o problema da soberania como problema da forma jurídica
e da decisão” é o manifesto da concepção decisionista do di-
reito, como Schmitt passou doravante a denominar. Como in-
diquei, essa concepção está já implícita em alguns trabalhos
anteriores, em particular o livro, à primeira vista puramente
histórico, sobre a ditadura (Die Diktatur, de 1921). Ela aí trans-
parece, no primeiro capítulo, na distinção que faz Schmitt de
duas orientações, ou mais exatamente, dois modelos no seio
do direito natural moderno. Ao paradigma científico de cor-
rente hobbesiana ele opõe o paradigma ético de Grotius: “O
primeiro sistema [Grotius] parte do interesse ligado a certas
representações da justiça e, consequentemente, a um conteúdo
da decisão, enquanto que no outro [Hobbes] apenas subsiste
o interesse em que uma decisão seja tomada”25.
A soberania foi definida como decisão instaurando a or-
dem política e pondo fim ao “caos” ou em outros termos, ao
estado de natureza. A oposição das duas correntes, que diz
respeito em primeiro lugar à prioridade dada à forma ou ao
conteúdo da ordem jurídico-política, anuncia diretamente a
oposição entre o normativismo (para o qual o que importa é
o conteúdo das normas, ele mesmo garantido pelo procedi-
mento de sua promulgação) e o decisionismo, que “pressupõe
uma desordem, que não engendra a ordem pelo fato de que se
decide e não pelo modo segundo o qual se decide”26.
Podemos constatar que em Kelsen uma mesma distinção
entre a forma e o conteúdo, desta vez da própria norma jurí-
dica, surge para caracterizar o ponto de vista da teoria pura
do direito, nisso que a opõe às teorias jusnaturalistas, sem-
pre fundadas sobre uma certa representação pressuposta do
conteúdo do direito ou da justiça27. Do mesmo modo que a
25 Die Diktatur (1921), Berlin, Duncker & Hurnblot, 1978, p. 22.
26 Drei Arten, p. 28.
27 Cf. “La méthode et la notion fondamentale de la théorie pure du droit”, Revue
110 - Norma, moralidade e interpretação...
“decisão soberana” de Schmitt vale menos por seu conteúdo
que pelo fato “normativo” da sua existência, assim também
em Kelsen a norma fundamental que institui uma hierarquia
de competências e de pontos de imputação define “a forma da
legalidade”. Enquanto que pressuposições irredutível e, não
obstante, normativa28, ela cria as condições na ausência das
quais seria impensável a existência de uma ordem jurídica
que seja, ao mesmo tempo, positiva e dotada de sentido29.
Aparentemente existe uma divergência entre a consciên-
cia de si do normativismo kelseniano e a apresentação crítica
que dela faz Schmitt. Mas isso é mais aparente do que real.
De fato, Schmitt considera que o conceito de forma, ao qual
Kelsen recorre, equívoco. Kelsen hesita entre uma concepção
“subjetiva”, mesmo transcendental (do tipo kantiano ou neo-
kantiano) e uma concepção “objetiva”, substancial, da forma
(na tradição aristotélica ou tomista30). O sentido da crítica pa-
rece ser o seguinte: a unidade da ordem normativa, como Kel-
sen descreve, apenas pode ser formal, no sentido de que não
é possível fazer derivar o conteúdo das normas de um só e
mesmo princípio material primeiro. Mas não sabemos, segun-
do Schmitt em todo caso, se essa unidade procede de uma re-
construção dessa ordem pela teoria do direito – em cujo caso
ela tem uma significação subjetiva ou, antes, reguladora, sob
o modo do “como se” – ou se ela reside na objetividade de um
princípio gerador, cujas normas jurídicas materiais seriam,
quanto à sua forma, mais precisamente quanto ao seu proces-
so de promulgação, sistematicamente dedutíveis31.
Manifestamente é a segunda hipótese que corresponde ao
ponto de vista de Kelsen32. O postulado da Grundnorm tem
de métaphysique et de morale, 41.1934, p. 195; Die philosophischen Grundlagen der Natur-
rechtslehre ... p. 11, 13-14, 21, 25-26.
28 A norma fundamental é simultaneamente um “enunciado normativo” e um “fato
criador de direito” (“Justice et droit naturel”, art. cit., p. 6).
29 Die philosophischen Grundlagen der Naturrechtslehre ... , p. 25.
30 Cf. TP, p. 39-40.
31 Cf. TP, p. 31-32, 39-40.
32 Em todo caso, do primeiro Kelsen; posteriormente ele considerará a Grundnorm
como uma ficção.
Norma, moralidade e interpretação... - 111
precisamente a função de permitir uma dedução sistemática
das normas fundada em sua significação objetiva, uma vez que
um ato de vontade pode causar um ser (produzir um efeito),
mas não fundar um dever-ser (instituir uma norma)33. Mas
é justamente aí que reside, aos olhos de Schmitt, a fraqueza
do normativismo. A afirmação da irredutibilidade do Solle ao
Sein, da validade normativa à eficácia causal, é contraditada, a
despeito do que diga Kelsen, pela hipótese de um fundamen-
to objetivo, ainda que hipotético, da ordem jurídica e de um
fundamento que permanece puramente “formal”, no sentido
de que o conteúdo particular das normas positivas não pode
dela ser deduzido.
Desse ponto de vista, o normativismo é inconsequente.
Ele não o seria se fundasse a validade das normas sobre certas
propriedades de seu conteúdo – mas isso seria voltar a uma
perspectiva jusnaturalista que Kelsen rejeita inteiramente –
ou bem reduzisse a validade à facticidade, remetendo assim,
como Jellinek, a uma “força normativa do factual”34, mas lhe
seria necessário, nesse caso, renunciar à exigência de unidade
e de completude e, portanto, à idéia de uma ordem jurídica
normativa: “uma unidade ou uma ordem normativas não po-
dem ser deduzidas senão de enunciados sistemáticos, norma-
tivamente consequentes, sem relação à sua validade positiva.
Portanto, de normas exatas [richtig] em sua racionalidade ou
justiça”35.
Para permanecer coerente, Kelsen se coloca diante de
uma alternativa: ou bem ele renuncia ao caráter normativo
das prescrições jurídicas, mas se defronta então com a objeção
que suscita todo positivismo jurídico do tipo clássico e que
ele próprio levanta: qual diferença existe entre o Estado que
prescreve essas regras imperativas e um bando de ladrões que
33 Cf. TPD II, p. 7-13.
34 Allgemeine Staatslehre (19244), Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft,
1968, p. 341, 360, 371 ; cf. SCHMITT. Drei Arten, p. 36-37.
35 TDC, p. 137 (trad. mod.).
112 - Norma, moralidade e interpretação...
me coagem a lhes ceder minha carteira36? Ou bem ele recorre
a um princípio material, por exemplo, a um certo conceito de
justiça, e toda sua crítica ao direito natural se torna caduca.
Em suma, se prolongamos a análise de Schmitt, os pressupos-
tos da teoria kelseniana a tornariam incapazes de manter sua
definição do direito como uma ordem normativa e ordem de coa-
ção, e seria necessário renunciar a uma ou a outra dessas duas
características que, segundo ele, são constitutivas da ordem
jurídica37.
Apesar da incoerência que existe em não escolher entre
um normativismo consequente, fundado sobre valores ma-
teriais e um positivismo consequente, reduzindo a normati-
vidade à facticidade, o direito ao fato, Kelsen permanece o
representante característico do normativismo pela sua preo-
cupação em considerar o Direito como uma ordem fechada
sobre ela mesma. A esse título ele é passível de uma dupla
crítica, tanto mais importante que ela legitima, a contrario, a
orientação decisionista que Schmitt professa por sua própria
conta38.
Primeira crítica: o normativismo evita o problema da
efetividade das normas e finge ignorar que “a idéia do di-
reito é incapaz de efetuar-se por ela mesma”39. Isso significa
dizer - no fundo, já era esse o objetivo de Gesetz um Urteil
– que o normativismo “desconhece o elemento decisionista
de toda decisão [...], [elemento] que não é normativamen-
te dedutível”40. Essa critica não é plenamente fundada, uma
36 Cf. TPD II, p. 60 e seg.; o argumeto do bando de ladrões vem, como sabemos, de
Augustinho (Civitas Dei IV, 4). Para uma análise recente e conforme às teses posi-
tivistas desse argumento, ver A. SCHUTZ, “Saint Augustin, l’Etat et la “bande de
brigands” “, Droits, 16, 1993, p. 71-82.
30 “Uma norma pode estar em vigor porque ela é exata; então, a consequência ime-
diata conduz ao direito natural e não a uma Constituição positiva; ou bem uma nor-
ma está em vigor porque ela é prescrita positivamente, isso é, por uma vontade exis-
tente” (TDC, p. 137-138; trad. mod.)
31 Sobre esse ponto reenvio, para maiores esclarecimentos, a meu livro Hegel, Carl
Schmitt. Le politique entre spéculation et positivité, op. cit.
32 TP, p. 39.
33 Verfassungsrechtliche Aufsãtze, op. cit., p. 79.
Norma, moralidade e interpretação... - 113
vez que Kelsen distingue cuidadosamente entre Geltung e
Wirksamkeit, entre a validade de uma norma, que não pode
estar fundada senão em outra norma, e sua eficácia ou efe-
tividade. Ele reconhece, todavia, que há uma relação fraca
entre essas duas características: uma norma inteiramente
privada de eficácia, por exemplo, uma prescrição que cai
em desuso, não poderia ser considerada como estando em
vigor e, portanto, como válida. Trata-se, para a teoria pura
do direito, de “definir uma via média” entre uma separação
radical, que seria insustentável, e uma redução positivista
da validade à eficácia, que aniquilaria o caráter normativo
específico dos enunciados jurídicos41.
Há, aqui, como já indiquei, uma séria dificuldade. Com
efeito, se a eficácia é uma condição para a validade, sem ser
seu fundamento, podemos manter o axioma da autonomia
das normas? Schmitt, ele mesmo, não levanta essa dificulda-
de, mas a hesitação manifesta de Kelsen sobre esse ponto em
seus escritos posteriores alimenta a tese da Teoria da Consti-
tuição: Kelsen não é um normativista consequente, ou seja,
segundo seus próprios termos, ele é um “idealista”42, como
necessariamente o é aquele que reduz a validade das normas
à sua conformidade a uma determinação pressuposta, por
exemplo, a uma idéia de justiça.
Segunda crítica: o normativismo de Kelsen esconde o
problema do qual o primeiro capítulo da Teologia Política quis
mostrar a importância central para a teoria do direito: o da
exceção. Kelsen o afasta efetivamente, negando sua existência.
É o que ele faz simultaneamente ao aderir à tese positivista
da ausência principial de lacunas na ordem jurídica e ao sus-
tentar que a ordem jurídica pode, sem contradição, prever e
regrar sua própria suspensão, por exemplo, definindo consti-
tucionalmente um regime de exceção.
Não é tanto a dificuldade, ao mesmo tempo técnica e ló-
gica dessa solução, que destaca Schmitt, mas o fato da ceguei-
34 Cf. TPD II, p. 281 e seg.
35 Op. cit., p. 282.
114 - Norma, moralidade e interpretação...
ra que ela manifesta em relação ao componente decisionista
ou, mais precisamente, ao elemento decisional que comporta
toda norma e toda ordem normativa. A suspensão das nor-
mas, mais exatamente de sua eficácia, evidencia que elas são
postas, enquanto normas, por uma “vontade” objetiva, por
uma decisão, isso é, por um ato instituindo uma existência
e que não se trata de uma “pressuposição externa”, como
afirma Kelsen, mas uma condição imanente. Não se trata,
insiste Schmitt, de reduzir o direito à força. O que revela a
suspensão da norma não é seu caráter arbitrário, mas o fato
de que “toda norma pressupõe uma situação normal”43. Se
existe um primado da decisão sobre a norma, uma e outra
sendo momentos constitutivos do direito em geral, é porque
o gesto eminentemente político da decisão – esse pode ser o
exercício do poder constituinte, a expressão de uma vontade
revolucionária, ou ainda o ato de um soberano, no sentido
de Hobbes – cria a situação normal que pressupõe toda vali-
dade normativa44.
À primeira vista, a divergência aqui é intransponível entre
as duas problemáticas normativista e decisionista. É evidente
que do ponto de vista kelseniano a tese de Schmitt representa
um caso grosseiro de naturalitic fallacy, que ela expressa uma
confusão entre o plano da normatividade e o da causalidade.
Mas é de plena consciência que Schmitt comete esse “erro”,
pois se trata, para ele, de contestar o dualismo do ser e do
dever-ser, que recobre o “monismo metafísico” de Kelsen.
O dever-ser, a normatividade das normas, não tem sentido,
em última instância, a não ser que elas se fundem em um ser.
Não, certamente, em um ser empírico: a decisão, no sentido
em que Schmitt a entende, comporta uma evidente dimensão
meta-empírica, que poderíamos talvez dizer transcendente.
Mais ainda do que na Teologia Política, com sua referência ao
milagre, as formulações do texto sobre os três tipos de pen-
36 TP, .p. 23; La notion de politique (1932), Paris, Calmann-Lévy, 1972, p. 87; Drei Arten,
p.22 (Schmitt acrescenta, em 1934: “e tipos normais”).
37 Drei Arten, p. 28-29.
Norma, moralidade e interpretação... - 115
samento jurídico evocam um modelo teológico do decisio-
nismo: “a decisão soberana é o começo absoluto e o começo
absoluto (mesmo no sentido de arche) não é nada mais que
uma decisão soberana. Ela emerge de um nada normativo e
de uma desordem concreta.”45
Para Schmitt, a idéia diretriz da teoria pura do direito,
que Kelsen não segue até as suas últimas consequências, é
verdadeiramente aberrante: a tese normativista da autofun-
dação da ordem (ou do “sistema”) jurídico esconde o gesto
que institui a normatividade, gesto que, a seus olhos, não po-
deria ser reduzido ao grau de um simples sistema formal ou
ao estatuto de “um prévio externo”. Resta perguntar – mas a
questão permanecerá aqui suspensa – se a posição decisionis-
ta não consiste em substituir ao dualismo do ser e dever-ser,
da normatividade e da causalidade, um outro dualismo, o do
ser e do não ser, da ordem e do caos, que se mostraria igual-
mente repleto de pressupostos. Paradoxalmente, para além
de sua oposição, Kelsen e Schmitt compartilham, talvez, uma
mesma concepção de racionalidade, fundada sobre esse “ou
bem ... ou bem”, na qual um pensador como Hegel via a mar-
ca distintiva de um pensamento unilateral46. Mas é preciso,
talvez, também reconhecer que, nessa via, Schmitt se mostrou
mais consequente que Kelsen, isso é, mais falso.
38 Drei Arten, p. 28.
39 Cf. sobretudo a Encyclopédie, prefácio à segunda edição, trad. Bourgeois, Vrin, I, p.
126.
116 - Norma, moralidade e interpretação...
El conflicto político y la autoridad
del derecho: la crítica schmittiana
al positivismo liberal
Andrés Rosler
Conicet – Universidad de Buenos Aires
Hubo una época en la que el positivismo predomi-
nante en la filosofía del derecho abogó por la desconexión
total entre la autoridad del derecho y el conflicto políti-
co. Aproximadamente en la misma época el liberalismo
asimismo predominante en la filosofía política se carac-
terizó por aislar la discusión sobre el conflicto político de
la reflexión sobre la autoridad del derecho. Hoy en día
las cosas han cambiado bastante, sobre todo a partir de
la obra de Ronald Dworkin y su teoría política del dere-
cho. 1 Pero sin duda uno de los precursores de la crítica a
la desconexión entre derecho y política es Carl Schmitt,
“un jurista” que, como sostiene Carlo Galli, “la crisis de
su ciencia lo constriñe a ser también politólogo”.2 En efec-
to, la obra de Schmitt gira alrededor de la crítica a cierta
desconexión entre derecho y política, atribuyéndosela a
un conjunto de posiciones que podríamos llamar “posi-
tivismo liberal” que resulta precisamente de la combina-
ción de la filosofía política liberal y la filosofía del derecho
positivista: el liberalismo y el positivismo son miembros
correspondientes de esta alianza, cada uno en su propio
territorio. Es más, desde el punto de vista schmittiano la
expresión misma “positivismo liberal” está al borde del
40 V. Ronald Dworkin, Law’s Empire, Cambridge MA, Harvard University Press,
1986.
2 Carlo Galli, Genealogia della politica, Bologna, Il Mulino, 1996, p. 284.
Norma, moralidade e interpretação... - 117
pleonasmo; se trata, por lo menos, de una alianza natural,
de dos caras de la misma moneda. 3
En este trabajo voy a tratar de señalar que la crítica schmit-
tiana al positivismo liberal—a partir de aquí “el tándem”—ha
perdido gran parte de su sentido al menos respecto a los expo-
nentes contemporáneos más avanzados del tándem, debido a
que los mismos están más cerca de Schmitt de lo que quizás
ambas partes estén dispuestas a reconocer.
La primera sección de este trabajo ofrece una breve carac-
terización de la crítica de Schmitt al tándem. La segunda sec-
ción señala cómo un distinguido exponente del tándem como
Jeremy Waldron critica el liberalismo “político” de Rawls. La
tercera sección se ocupa de la teoría de otro gran exponente
del tándem como Joseph Raz y su teoría de la autoridad. La
cuarta sección se ocupa de una probable aunque problemáti-
ca réplica schmittiana al positivismo liberal. La última y muy
breve sección señala lo que Schmitt todavía puede agregar al
tándem.4
I. AUTHORITAS, NON VERITAS, FACIT LEGEM
Repasemos la crítica de Schmitt al tándem liberal-positi-
vista. Se podría decir, siguiendo a la jerga schmittiana, que lo
que caracteriza al tándem es su persistente “negación de lo
político”.5 En verdad, el componente liberal parece entender
al conflicto político como un mero desacuerdo resuelto por
una deliberación o diálogo bajo ciertas condiciones norma-
3 V. Carlo Galli, Genealogia della politica, op. cit., pp. 795-796.
4 Antes de proseguir una breve aclaración. En este trabajo no voy a hablar de un
pensador señalado al comienzo del trabajo que a primera vista parece haber sido
hecho a medida para el tema que nos ocupa, i.e. Ronald Dworkin. En efecto, se trata
de un famoso liberal que a la vez defiende una teoría abiertamente política del dere-
cho, y por lo tanto un candidato ideal para representar al “liberalismo político”. La
ausencia de Dworkin se debe sin embargo fundamentalmente a su antipositivismo,
lo cual lo aleja de los otros liberales estudiados y en este sentido lo acerca demasiado
a Schmitt.
5 Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen, ed. rev., Berlín, Duncker & Humblot, 1963,
p. 69.
118 - Norma, moralidade e interpretação...
tivas, como si la política no fuera sino la continuación de la
ética o del derecho pero por otros medios. En efecto, si bien
según Schmitt el liberalismo es en sentido amplio “un siste-
ma metafísico… consecuente, comprensivo”,6 una “coalición
extraordinariamente compleja de economía, libertad, técnica,
ética y parlamentarismo…”,7 en sentido estricto el “principio
general liberal” es que “a partir de la libre lucha de las opi-
niones la verdad emerge como la armonía que resulta por sí
misma de la competencia”.8 Según Schmitt el liberalismo ha
provocado que “los puntos de vista políticos han sido priva-
dos de toda validez y sometidos a las normatividades y ‘órde-
nes’ de la moral, el derecho y la economía”,9 debido a que el
liberalismo desconfía de “todos los poderes políticos y formas
de Estado imaginables”. En una palabra, el liberalismo es in-
capaz de ofrecer “una teoría propia positiva del Estado y la
política”.10
Schmitt, por el contrario, se ha hecho famoso por sostener
que la “distinción específicamente política, a la cual se dejan
reducir [zuruckfuhren] las acciones y motivos políticos, es la
distinción de amigo y enemigo. (…). El enemigo político no ne-
cesita ser moralmente malo, él no necesita ser estéticamente
feo; no debe aparecer como un competidor económico, y pue-
de ser quizás que parezca ser ventajoso hacer negocios con
él”.11 Para Schmitt “Lo político puede extraer su fuerza de las
más diferentes esferas de la vida humana, de oposiciones reli-
giosas, económicas, morales y otras; no demarca un territorio
propio sino sólo el grado de intensidad de una asociación o di-
sociación de seres humanos”.12 Podrían existir entonces con-
flictos políticos incluso entre personas que no fueran inmo-
6 Carl Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, Berlín,
Duncker & Humblot, 1991, repr. de la 2da. ed. de 1926, p. 45.
7 Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen, op. cit., 75.
8 Carl Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage…, op. cit., p. 46. En esta obra Bentham es
descripto como un “fanático de la racionalidad [Verständigkeit] liberal”, p. 49.
9 Ibidem, p. 72.
10 Ibidem, p. 69.
6 Ibidem, pp. 26-27.
7 Ibidem, p. 38.
Norma, moralidade e interpretação... - 119
rales, irracionales, etc., y cuestiones morales, racionales, etc.,
bien podrían politizarse. Por lo tanto, si bien el liberalismo
“reconoce la ‘autonomía’ de las diferentes esferas de la vida
humana”—por ejemplo: estética, economía, ciencia, etc.—
exagerándolas “hasta la especialización y de ese modo hasta
el aislamiento total”,13 la única autonomía que no reconoce
es la de la política. De ahí que si para Schmitt el positivismo
liberal es casi un pleonasmo, la idea rawlsiana de un “libera-
lismo político” sería lisa y llanamente una contradicción en
sus términos.
Según Schmitt, las cuestiones y las decisiones políticas
no pueden ser sincronizadas con o reducidas a categorías, di-
mensiones, reglas o valores pre-políticos cuya aplicación pue-
da resolver las diferencias. La política es trágica en el sentido
de que una decisión dejará de lado un principio o valor in-
compatible aunque de igual valía que el preferido. Un schmit-
tiano podría reconocer que en otras esferas fuera de la políti-
ca, como por ejemplo la moralidad, se toman decisiones por
las cuales algunos principios o valores son incluidos y otros
excluidos. Pero en el caso de las decisiones morales parece
operar un principio de horror al vacío valorativo o una eco-
nomía de orden de tal modo que los principios y decisiones
terminan “cerrando”. En realidad, diría un schmittiano, en el
caso de la moral sólo puede haber conflictos o desacuerdos
ex ante, es decir, antes de someter las cuestiones en juego al
examen desinteresado e imparcial de los estándares morales.
Una vez aplicados dichos estándares, el desacuerdo, o aún
mejor, la diferencia, sólo podría ser explicada en el fondo por
una teoría del error: por la desatención a cierto aspecto, o un
defecto del razonamiento, o un descuido provocado por las
pasiones. En el caso de la moral, por ejemplo, la diferencia
desaparece sea porque lo que parecía ser mi bien, una vez que
se lo comprende adecuadamente, es idéntico al de otra per-
sona, o porque mi bien está contenido o incluido en el bien
8 Ibidem, p. 71.
120 - Norma, moralidade e interpretação...
de otro como constitutivo del mismo, y/o ambos en el bien
común. En ambos casos el conflicto es eliminado o al menos
mitigado.14 De ahí que la más gravosa de las exclusiones mo-
rales en realidad no provoca pérdida alguna si estudiamos las
cosas con detenimiento, ya que proviene de la aplicación de
un estándar universal al cual por definición nadie puede opo-
nerse razonablemente, y otro tanto sucede, por supuesto, con
la inclusión. En política, por el contrario, como se suele decir
en inglés, “no hay almuerzos gratis”. Así como en el caso de la
moral el eslogan podría ser “nada se pierde”, el de la política
es “todo se paga en la vida”: cuando se trata de la decisión
política de elegir X por sobre Y eso hace que X sea preferido
respecto a Y aquí y ahora de tal forma que no sólo se posterga
la posibilidad de hacer Y, sino que la decisión misma muy
probablemente impida la posibilidad de hacer Y en absoluto.
Asimismo, Schmitt se muestra preocupado por la tenden-
cia liberal a entender a la política como un “diálogo eterno”
ya que no sólo excluye el conflicto sino también su resolu-
ción. La política no sólo trata con valores que hoy llamaría-
mos inconmensurables sino que además los tiempos políticos
“exige[n] una decisión”.15 En efecto, Schmitt enfatiza la peren-
toriedad de los tiempos políticos y la necesidad de tomar una
decisión inapelable. La idea de la política como una discusión
eterna evita la responsabilidad de tomar una decisión, lo cual
es típico de la burguesía liberal, la “clase discutidora”,16 la
cual se comporta como si “el ideal de la vida política consis-
tiera en que discuta no sólo el cuerpo legislativo, sino toda la
población, que la sociedad humana se transforme en un club
gigante y que la verdad de este modo se diera por sí misma
a través de la votación”. Precisamente, para Schmitt la esen-
cia del liberalismo consiste en “discutir, media tinta [Halbheit]
9 Sobre esta manera de tratar al conflicto v. Nicholas White, Individual and Conflict
in Greek Ethics, Oxford, Oxford University Press, 2002, pp. 34-35.
10 Carl Schmitt, Politische Theologie, 3ra. ed., Berlin, Duncker & Humblot, 1979, repr.
de la ed. de 1922, p. 69.
11 Ibidem, p. 75.
Norma, moralidade e interpretação... - 121
esperadora con la esperanza de que la oposición definitiva, la
sangrienta batalla decisiva, pudiera ser tratada en un debate
parlamentario y se dejara suspender eternamente en una dis-
cusión eterna”.17
En lo que atañe a la teoría legal, el componente positivista
del tándem, correlato jurídico del liberalismo, entendería al
derecho como un mero mecanismo automático de aplicación
de normas jurídicas.18 Para Schmitt el paradigma legal del tán-
dem es la teoría kelseniana del derecho la cual según Schmitt
asume cierta armonía pre-establecida entre el conocimiento
jurídico y la realidad política y por lo tanto ignora el proble-
ma político de la realización del derecho.19 Para Schmitt, cier-
tamente, el derecho no es el mero resultado de la aplicación
automática de normas. Según Schmitt “la realidad de la vida
del derecho depende de quién decide. Junto a la pregunta por
la rectitud del contenido se encuentra la pregunta por la com-
petencia [legal]”.20
En efecto, para Schmitt el derecho “agrega un momento
que no se deja deducir ni a partir del contenido de la idea
del derecho ni de su contenido en ocasión de la aplicación
de alguna norma jurídica positiva general. Toda decisión ju-
rídica concreta contiene un momento de indiferencia de con-
tenido, porque la conclusión jurídica no es deducible hasta
sus últimos restos a partir de sus premisas”.21 Para Schmitt,
el hecho de que sea “un ente competente el que falla la deci-
sión hace a la decisión relativamente, y también bajo ciertas
circunstancias absolutamente, independiente de la rectitud de
su contenido y corta la discusión adicional acerca de si aún
12 Ibidem, pp. 79-80.
13 El derecho a su vez podría resultar de la deliberación o diálogo o de la voluntad
de alguien en lugar de la deliberación, lo cual no afectaría el carácter automático del
derecho.
14 Ibidem, pp. 30-31.
15 Ibidem, p. 46.
16 Ibidem, p. 41. Esto se aplica a la aplicación del derecho cuanto a la autoridad del
derecho en general. Es cierto que Schmitt trata de destacar el momento personal del
derecho antes que su independencia de contenido. Pero el segundo aspecto está con-
tenido en lo que dice Schmitt.
122 - Norma, moralidade e interpretação...
pueden existir dudas. La decisión deviene instantáneamente
independiente del fundamento argumentativo y contiene un
valor autónomo”.22 En El Guardián de la Constitución Schmitt
es aún más claro:
En toda decisión, incluso en la de un tribunal decisorio
en un proceso que subsume un estado de cosas [tatbes-
tändsmäßig], reside un elemento de pura decisión, que no
se puede deducir a partir del contenido de la norma. Yo
he designado a esto “decisionismo”. (…). Pero aún más
fuerte y más esencialmente determinante es el carácter
decisionista de todo pronunciamiento de una instancia
cuya función específica es decidir la duda, las incerti-
dumbres y diferencias de opinión. (…). La decisión [es]
como tal sentido y fin del pronunciamiento, y su valor
no reside en una argumentación avasallante, sino en la
supresión autoritativa, que emerge precisamente a par-
tir de las muchas posibles argumentaciones mutuamente
contradictorias.23
II. LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA POLÍTICA:
WALDRON CONTRA RAWLS
La obra de Jeremy Waldron, un distinguido contemporá-
neo positivista liberal, parece ser un buen lugar para empe-
zar a examinar el alcance de las críticas de Schmitt al tándem.
Waldron señala que si bien los filósofos del derecho se precian
de usar las herramientas de la filosofía moral y de la filosofía
del lenguaje al discutir cuestiones tales como la objetividad
del derecho, las condiciones de verdad de las proposiciones
jurídicas, la observancia wittgensteiniana de reglas, etc., sin
embargo no suelen estar interesados en la filosofía política.24
Waldron cree que esto se debe, a su vez, a que los iusfilóso-
fos sospechan de “lo político” porque, por ejemplo, los jueces
17 Ibidem, p. 42.
18 Carl Schmitt, Der Huter der Verfassung, Berlín, Duncker & Humblot, 1985, reimp.
de la ed. de 1931, pp. 44-45.
19 Al menos no en tanto que filósofos del derecho.
Norma, moralidade e interpretação... - 123
cumplen con sus funciones sobre la base de sus convicciones
políticas a pesar de la pretendida neutralidad ideológica de
la justicia, o porque algunos tratan de evitar que las legisla-
turas antes que los jueces decidan cuestiones controversiales;
o simplemente debido a que creen que la política en el fondo
no es sino ética o filosofía moral aplicada. De ahí que muchos
filósofos del derecho prefieran deshacerse del “intermediario,
para tratar con la filosofía moral directamente”.25
Pero, a juicio de Waldron, esto es metodológicamente un
error. Sin duda, en una discusión sobre valores, por ejemplo
sobre la naturaleza del daño o del bienestar, los que participan
de la discusión tienden a comportarse como si existiera una
respuesta correcta para la cuestión. Aunque, por supuesto, no
están de acuerdo sobre cuál es dicha respuesta correcta, y por
eso es que existe la discusión, así y todo la noción misma de
una respuesta correcta restringe las alternativas de los parti-
cipantes en la discusión operando “como la noción de algo
no necesariamente idéntico con la opinión de alguien en la
materia, que proporciona una base objetiva para determinar
la verdad o la aceptabilidad de cualquier opinión dada en la
materia”.26 Si bien tarde o temprano la discusión sobre la res-
puesta correcta acerca de un cierto valor terminará siendo una
función de la respuesta que alguien dé acerca del valor en jue-
go, la filosofía moral y la filosofía del derecho toman caminos
diferentes al respecto. El filósofo moral se interesará más por
la corrección de la respuesta afirmada por cierta persona que
en la persona misma: para la filosofía moral es la corrección
de la respuesta lo que explica el papel que juega la persona
que afirma dicha respuesta, y no al revés. Pero Waldron no
sin razón afirma que en política y también en derecho la perso-
na que expresa la respuesta correcta respecto a cierto valor es
más importante que la corrección en sí misma de la respues-
20 Jeremy Waldron, “Legal and Political Philosophy”, en Jules Coleman, Scott Shapi-
ro y Kenneth Eimar Himma (eds.), The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy
of Law, Oxford, Oxford University Press, 2002, pp. 353, 376.
21 Ibidem, p. 376.
124 - Norma, moralidade e interpretação...
ta ofrecida,27 debido a que el derecho tiene vencimientos que
atender o plazos que cumplir dentro de los cuales las contro-
versias tienen que ser resueltas y la decisión aplicada. Por más
que en política y en derecho se insista en la corrección de la
decisión tal como lo hace la moral,28 la decisión en política y
en derecho es más importante que la corrección en sí misma.
Waldron tiene razón en que a menudo existirá cierta disonan-
cia entre lo que uno considera que es la decisión correcta y lo
que es la decisión autoritativa en la toma de decisiones políti-
cas. A diferencia de la ética, entonces, en política y en derecho
la pregunta sobre quién es el que decide a menudo “es más
o menos el corazón del asunto”.29 La conclusión de Waldron
es que “el derecho tiene que alinearse con la política en este
sentido”.30
Así como hasta aquí Waldron afirma la necesidad de que
el derecho se acerque a la política, en otro lugar parece abogar
recíprocamente por el acercamiento de la política al derecho.
En efecto, en Law and Disagreement, Waldron sostiene que la
filosofía política tiene dos grandes tareas.31 La primera consis-
te en estudiar cuestiones tales como cuál es una distribución
apropiada de los bienes y servicios que produce una sociedad,
o cuál es una concepción apropiada de los derechos, del bien
común, etc. Dentro de esta primera tarea, una vez resueltas
estas cuestiones la teoría política trataría de inferir, por ejem-
plo, las implicaciones procedimentales de dichas teorías de
la justicia, derechos, bien común, etc. La segunda tarea de la
filosofía política cuenta con una agenda específica, distinta
de la mera consideración de las implicaciones procedimen-
tales de una visión sustantiva en particular, y consiste en el
22 Ibidem, p. 376.
23 Y en cierto sentido toda actividad o práctica normativa apunta a tal corrección.
Nadie apunta a equivocarse en un sentido relevante, incluso los que juegan a equivo-
carse quieren no equivocarse, y en este caso “equivocarse” sería tener la razón.
24 Ibidem, p. 377.
25 Ibidem, p. 377.
31 Jeremy Waldron, Law and Disagreement, Oxford, Oxford University Press, 1999, p.
3.
Norma, moralidade e interpretação... - 125
estudio de los desacuerdos fundamentales sobre la justicia,
derechos, el bien común, etc. Esta segunda tarea tiene como
objetivo “reflexion[ar] sobre los propósitos por los cuales, y
los procedimientos por los cuales, las comunidades fijan un
conjunto único de instituciones incluso frente al desacuerdo
sobre tantas cosas que correctamente consideramos como tan
importantes”.32
Esta segunda tarea de la filosofía política gira alrededor
de lo que Waldron denomina “las circunstancias de la política”,
es decir, la necesidad que tienen los miembros de un cierto
grupo “de un marco, decisión o curso de acción común en al-
guna materia, incluso frente al desacuerdo sobre cuál debería
ser ese marco, decisión o acción”.33 Waldron aclara que dicho
desacuerdo no se debe a deficiencias de racionalidad o mo-
ralidad, a la mala fe, ignorancia, o auto-interés, sino al hecho
de que personas igualmente razonables están en desacuerdo
sobre cuestiones tales como justicia o derechos, debido a la di-
ficultad de lo que está en juego sumada a la multiplicidad de
inteligencias y diversidad de perspectivas.34 No parece tener
en mente algo muy distinto de lo que podríamos caracterizar
como la autonomía de lo político.
Haciendo referencia directa a la obra del “último” Rawls,
Waldron afirma que “los liberales no han hecho un tan buen
trabajo de reconocer la inescapabilidad del desacuerdo acerca
de las materias sobre las cuales ellos piensan que sí necesi-
tamos compartir una visión común, a pesar de que tal des-
acuerdo es el aspecto más prominente de la política de las
democracias modernas”. Y precisamente en una nota agrega
que tal desacuerdo “[e]s el aspecto más prominente no sólo
de la política sino de nuestras propias interacciones con cole-
gas cuando estamos debatiendo las cuestiones de derechos y
justicia sobre las cuales todos nosotros se supone que somos
32 Ibidem, p. 3.
33 Ibidem, p. 102.
34 Ibidem, pp. 105, 112-13.
126 - Norma, moralidade e interpretação...
expertos”.35 Como resultado de estas consideraciones, el filó-
sofo político debería dedicarse al estudio de un marco común
capaz de albergar y resolver desacuerdos políticos sustanti-
vos, lo cual es una manera de expresar la necesidad de que la
filosofía política se acerque a la teoría del derecho.
Esta es una de las razones por las cuales, sostiene Wal-
dron, los filósofos de la política y del derecho deberían pasar
menos tiempo en compañía de Rawls y más tiempo en compa-
ñía de Hobbes y de Kant, “filósofos que hicieron fundamen-
tal a la existencia de desacuerdo entre individuos sobre dere-
chos y justicia para los problemas que intentaron resolver sus
teorías de autoridad, procedimiento y obligación política”.36
Waldron sostiene que a pesar de los esfuerzos de Rawls de
separar su teoría de la justicia de todo resabio metafísico, di-
cho de otro modo, a pesar de sus esfuerzos por ofrecer una
visión estrictamente política del liberalismo, en realidad Rawls
no puede dar cuenta de los desacuerdos sustantivos que atra-
viesan a la política. Por ejemplo, si bien las cargas rawlsianas
del juicio explican cómo es posible el desacuerdo razonable,
el ideal rawlsiano de la razón pública parece asumir que dicha
“explicación no se aplica a las cuestiones públicas de justicia y
derecho que están en discusión en la política”,37 y que la teo-
ría rawlsiana de la razón pública es inmune a la posibilidad
de desacuerdos razonables y por lo tanto es capaz de lograr
un acuerdo sustantivo entre diferentes concepciones compre-
hensivas del bien.
En efecto, veamos cómo Waldron reconstruye la discu-
sión que tendría lugar en el marco de la versión rawlsiana tar-
día en la búsqueda de una concepción política apropiada para
tratar cuestiones de justicia. Ex ante habría varias aproxima-
ciones razonables a la justicia, entre las cuales se encontraría
la de Rawls. Luego de una discusión apropiada aquella posi-
ción que obtuviera consenso suficiente sería aceptable como
35 Ibidem, p. 106, n. 51.
36 Ibidem, pp. 3-4.
37 Ibidem, p. 153.
Norma, moralidade e interpretação... - 127
representante de la razón pública. Si así son las cosas, sólo
ex ante se puede hablar de desacuerdo razonable respecto a
cuestiones esenciales de la política; una vez determinada cuál
es la razón pública, i.e. ex post, es difícil evitar la conclusión de
que las otras aproximaciones no eran razonables precisamen-
te porque no pudieron obtener suficiente consenso. Lo único
que resta ex post del desacuerdo razonable “son desacuerdos
acerca del arreglo de los detalles de la concepción que la pri-
mera fase de la discusión ha arrojado”.38 Incluso si asumiéra-
mos la coherencia de la propuesta rawlsiana de tal forma que
los agentes que actuaran al amparo de la misma estuvieran de
acuerdo sobre una concepción de razón pública y/o vivieran
en una sociedad bien ordenada, Waldron sostiene que “sería
un error inferir algo de ella para los problemas acerca de po-
lítica, procedimiento y alternativa constitucional que nosotros
enfrentamos—nosotros, en el mundo real, en donde la gente
no se pone de acuerdo para nada acerca de los fundamentos
de la justicia”.39 Para Waldron, Rawls no enfrenta el problema
clave de la filosofía política: “incluso sobre las cuestiones que
creemos son las más importantes, una decisión común puede
ser necesaria a pesar de la existencia de desacuerdo acerca de
cuál deba ser esa decisión”.40 Se podría decir que para Wal-
dron, Rawls así y todo sigue cometiendo el error de subordi-
nar la política a la justicia.
Permítaseme complementar del siguiente modo la crítica
de Waldron al carácter político de la teoría de Rawls. Una teo-
ría es política en la medida en que defiende una posición P en
contra de X respecto a Z—en donde Z es de naturaleza públi-
ca y P no es necesariamente más o menos razonable que la po-
sición de X. Rawls mismo admite que, por así decir, el primer
38 Ibidem, p. 154.
39 Ibidem, pp. 157-8. O bien, quizás sí es una teoría que se aplica a algunas
personas pero demasiado, o de una manera inapropiada, debido a que se trata de los
miembros de una comunidad particular, v.g. ciudadanos estadounidenses, y no por-
que todos los afectados sean racionales. V. Raymond Geuss, Philosophy and Real Poli-
tics, Princeton, Princeton University Press, 2008, p. 85.
40 J. Waldron, Law and Disagreement, op. cit., p. 161.
128 - Norma, moralidade e interpretação...
Rawls en su famoso tratado sobre la justicia no tiene en cuenta
“el contraste entre doctrinas comprehensivas filosóficas y mo-
rales y las concepciones limitadas al dominio de lo político”.41
En cambio, en Liberalismo Político, Rawls sostiene que “dado
que no hay una doctrina religiosa, filosófica o moral razonable
afirmada por todos los ciudadanos, la concepción de justicia
afirmada en una sociedad democrática bien ordenada debe
ser una concepción limitada a lo que yo [sc. Rawls] llamaré ‘el
dominio de lo político’ y sus valores”.42 Rawls incluso se da
cuenta de que puede haber concepciones diferentes y razona-
bles del liberalismo mismo. De ahí que proponga distinguir
entre teorías de la justicia comprehensivas y teorías puramen-
te políticas. Las segundas permitirían a los que sostienen di-
ferentes teorías comprehensivas del bien ponerse de acuerdo
mediante la aceptación de principios razonables de justicia.
La política o lo político rawlsianos precisamente giran alrede-
dor de la idea de razón pública o consenso superpuesto. Es en
dicha dimensión en donde las diferentes posiciones compre-
hensivas del bien se ponen de acuerdo. De hecho, “personas
razonables pensarán que es irrazonable usar el poder político,
si lo poseen, para reprimir visiones comprehensivas que no
son irrazonables, aunque diferentes de las suyas”. Estos mis-
mos agentes razonables llegarán a la conclusión de que “es
irrazonable… usar poder político, …, para reprimir visiones
comprehensivas que no son irrazonables”.43
Sin embargo, la insuficiente politicidad, por así decir, de
la posición de Rawls puede ser detectada en los pasajes si-
guientes:
Dado que la justificación se dirige a otros, procede de lo
que es, o puede ser, sostenido en común; y así nosotros
empezamos a partir de ideas fundamentales compartidas
implícitas en la cultura política pública con la esperanza
41 John Rawls, Political Liberalism, nueva ed., Nueva York, Columbia Univer-
sity Press, 1996, p. xvii.
42 Ibidem, p. 38.
43 Ibidem, 60-1.
Norma, moralidade e interpretação... - 129
de desarrollar a partir de ellas una concepción política
que pueda ganar un acuerdo libre y razonado en el juicio,
siendo este acuerdo estable en virtud de ganar el apoyo
de un consenso superpuesto de doctrinas comprehensi-
vas razonables.44
Tal como Rawls mismo alega, su idea del consenso super-
puesto “supone un acuerdo lo suficientemente profundo para
alcanzar tales ideas como esas de la sociedad como un sistema
equitativo de cooperación de los ciudadanos como razonables
y racionales, y libres e iguales”.45 El régimen constitucional
que Rawls tiene en vista asume “las virtudes de la tolerancia y
estar dispuesto a encontrar a otros en la mitad del camino, y
la virtud de la razonabilidad y el sentido de equidad”; Rawls
dice que “cuando un consenso superpuesto apoya la concep-
ción política, esta concepción no es vista como incompatible
con los valores básicos religiosos, filosóficos y morales”;46 fi-
nalmente, “mientras que una concepción política de la justicia
se dirige al hecho del pluralismo razonable, no es política en
el sentido equivocado: esto es, su forma y contenido no es-
tán afectados por el balance existente de poder político entre
doctrinas comprehensivas. Ni sus principios encuentran una
transacción entre los más dominantes”.47 Finalmente, es alta-
mente sugestivo que los ejemplos que da Rawls de posiciones
políticas contrarias y que conforman “un caso modelo de un
consenso superpuesto” sean las diferencias entre las concep-
ciones liberales de Kant, Mill y la propia.48 En realidad, esta
manera de presentar el conflicto podría dar la impresión de
estar manipulando o lisa y llanamente de estar eliminando al
conflicto. Como se suele decir en inglés, Rawls parece estar
predicando para el coro.
44 Ibidem, 100-1, énfasis agregado.
45 Ibidem, p. 149, énfasis agregado.
46 Ibidem, p. 157, énfasis agregado.
47 Ibidem, p. 142.
48 V., v.g., ibidem, p. 145.
130 - Norma, moralidade e interpretação...
III. LA TEORÍA RAZIANA DE LA AUTORIDAD
No parece haber dudas de que otro destacado positivista
liberal como Joseph Raz cumple con los requerimientos que
Waldron le impone a una teoría política completa. No sólo de-
fiende una teoría sustantiva del bien sino que además defien-
de una concepción bastante robusta de la autoridad, la cual es
un ingrediente clave de su defensa del positivismo.
La razón autoritativa para actuar, explica Raz, “está en el
hecho aparentemente ‘extraño’ de que alguna autoridad ha
dicho eso, y dentro de ciertos límites el hecho de que lo haya
dicho será una razón para un número de acciones, incluyendo
(en casos típicos) una razón para acciones contradictorias”.
Una cierta autoridad podría ordenarnos que abandonemos
esta sala o que nos quedemos en ella. Pero en ambos casos
“su mandato será una razón”.49 Se trata de una razón “extra-
ña” debido a que es esencialmente opaca o independiente de
contenido, para decirlo en términos hartianos.50 Mientras que
las razones dependientes de contenido son transparentes en
la medida en que su normatividad depende de su valor, en el
caso de las razones independientes de contenido existe una
brecha entre su validez y su valor por la cual es racional ac-
tuar según ellas incluso en el caso de que las consideráramos
“fuera de todo razonable discurso”.51
Esta manera de pensar la autoridad, por lo tanto, excluye
la posición minimalista según la cual X acepta la autoridad
de Y para exigirle Z a X, sólo si X no tiene un juicio formado
sobre los méritos de Z. Según esta concepción minimalista de
la autoridad, para que X pueda saber si tiene que reconocer o
49 Joseph Raz, The Morality of Freedom, Oxford, Oxford University Press, 1986,
p. 35.
50 V. Herbert L. A. Hart, Essays on Bentham, Oxford, Oxford University Press,
1982, cap. 10. Hegel ya había mostrado la importancia de distinguir entre la forma y
el contenido de una razón para actuar. V., v.g., Grundlinien der Philosophie des Rechts,
§§ 11, 102.
46 Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha, I.xiii, Madrid,
Real Academia Española, 2004, p. 118.
Norma, moralidade e interpretação... - 131
no la autoridad de Y, X primero tendrá que formar su propio
juicio sobre Z, de modo que el hecho de que una autoridad
requiera cierta acción es una razón adicional o meramente in-
dicativa que se ha de sumar a nuestra balanza de razones para
actuar en un pie de igualdad con cualquier otra razón que se
aplique al caso. De ahí que la concepción minimalista suscriba
lo que Raz llama la tesis de la indiferencia, según la cual “el
ejercicio de la autoridad no debería hacer diferencia respecto a lo que
los súbditos deberían hacer, ya que debería dirigirlos a ellos ha-
cia lo que deberían hacer de todos modos”.52 Por lo tanto, la
teoría minimalista de la autoridad sostiene que la autoridad
refleja la balanza de razones en el sentido de que el recono-
cimiento de la autoridad depende de su coincidencia con la
misma, por lo cual la autoridad es superflua: no hace ninguna
diferencia práctica.
Una teoría apropiada de la autoridad, por el contrario,
debería suscribir lo que Raz denomina una concepción maxi-
malista de la autoridad según la cual la autoridad tiene la ca-
pacidad de crear nuevas razones para actuar, razones que no
existirían a no ser por la decisión autoritativa. En este sentido,
X acepta la autoridad de Y para exigirle que haga Z incluso—
y de hecho sobre todo—si X creyera que la balanza de razones
sobre los méritos del caso se inclina en contra de la realización
del acto exigido.53 De ahí que sobre la base de una analogía
arbitral Raz defienda lo que él llama la tesis de la prevención
(pre-emption): “El hecho de que una autoridad requiera la realiza-
ción de una acción es una razón para su realización que no se ha de
añadir a las otras razones relevantes cuando se evalúa qué hacer,
sino que debe excluir y tomar el lugar de algunas de ellas”.54
En efecto, según Raz, “un hombre considera… [una] máxi-
ma como una regla sólo si cree que… la máxima debe ser se-
guida incluso si estuviera en duda acerca de si su solución es
47 Joseph Raz, “Authority and Justification”, en J. Raz (ed.), Authority, New
York, New York University Press, 1990, p. 126.
48 Cf. J. Raz, The Morality of Freedom, op. cit., p. 40.
49 J. Raz, “Authority and Justification”, op. cit., p. 124.
132 - Norma, moralidade e interpretação...
la mejor según la balanza de razones, incluso, si llegara él a
considerar los méritos del caso, él creyera que la máxima no de-
bería ser seguida en este caso”.55 Ese es precisamente el sentido
de la autoridad: al reconocer una autoridad dejamos de actuar
sobre la base de nuestra balanza de razones para actuar según
la balanza de razones de la autoridad, ya que asumimos que la
decisión de la autoridad reflejará nuestra balanza de razones.
Sin embargo, Raz advierte que no hay que creer:
que las determinaciones autoritativas son vinculantes
sólo si reflejan correctamente la razón de la cual depen-
den. Por el contrario, no tiene sentido tener autoridades a
menos que sus determinaciones sean vinculantes incluso
si son erróneas (aunque algunos errores pueden desca-
lificarlas). El sentido entero y el propósito de las autori-
dades, …, es prevenir [preempt] el juicio individual sobre
los méritos, y esto no se logrará si para establecer si la
determinación autoritativa es vinculante los individuos
tienen que confiar en su propio juicio de los méritos.56
Una vez establecido que una norma se aplica al caso en cues-
tión no necesitamos ocuparnos del peso de las razones contrarias
que afectan al caso, ya que son excluidas por la manera de ope-
rar de la autoridad. Esto explica la independencia relativa de las
razones autoritativas de las razones que las justifican,57 y es de
hecho lo que justifica en gran medida a la autoridad:
“la manera normal y primaria para establecer que una
persona debe ser reconocida como una autoridad sobre
otra persona implica mostrar que el supuesto súbdito
probablemente cumplirá mejor con las razones que se le
aplican a él (distintas de las supuestas directivas autorita-
tivas) si él acepta las directivas de la supuesta autoridad
como autoritativamente vinculantes y trata de seguirlas,
que si tratara de seguir las razones que se le aplican a él
directamente”.58
50 Joseph Raz, Practical Reason and Norms, ed. rev., Princeton, Princeton Uni-
versity Press, 1990, pp. 60-61.
51 J. Raz, “Authority and Justification”, op. cit., p. 126.
52 J. Raz, Practical Reason and Norms, op. cit., pp. 79-80.
53 J. Raz, “Authority and Justification”, op. cit., p. 129.
Norma, moralidade e interpretação... - 133
IV. TOMANDO LA AUTONOMÍA
DE LO POLÍTICO EN SERIO
Un schmittiano bien podría estar dispuesto a reconocer
que ni para Waldron ni para Raz la política es exactamente la
continuación de la ética por otros medios, ni el derecho con-
siste en la mera aplicación automática de normas generales a
casos concretos. No hay dudas de que, a su modo, los cultores
contemporáneos del tándem se han alejado de las posiciones
que Schmitt le atribuyó a sus antecesores. Sin embargo, una
crítica schmittiana podría insistir en que a pesar de todo, la
diferencia esencial subsiste. Tanto el funcionamiento de la au-
toridad waldroniana como el de la raziana asumen un acuer-
do valorativo lo suficientemente robusto del cual surgen las
reglas o normas que regulan el desacuerdo de tal forma que
se pueda alcanzar una decisión común. El tándem, a fin de
cuentas, termina moralizando a la política al hacer que la au-
toridad misma dependa de razones anteriores a su operación:
no parece advertir que un conflicto político no es un simple
desacuerdo que puede ser pacíficamente resuelto sobre la
base de estándares preexistentes a los cuales suscriben todos
los involucrados. Para un schmittiano los conflictos políticos
genuinos van más allá de los desacuerdos en la medida en
que es posible imaginar una situación en la cual se enfrenta
un punto muerto o de total intransigencia sin que medie ne-
cesariamente irracionalidad o inmoralidad por parte de los
involucrados: ambas partes entienden la posición del otro y
sin embargo ninguna de ellas está dispuesta a ceder.
En el fondo, desde el punto de vista schmittiano, el tán-
dem parece confundir el concepto primario de lo político con
el concepto secundario, de este modo reconociendo sólo cierta
autonomía parcial, pero no total, de lo político. Para Schmitt,
el caso central o primario de lo político se caracteriza por ser
un enfrentamiento en el cual el enemigo político “es el otro,
el extraño, y basta para su esencia que él es algo distinto y
134 - Norma, moralidade e interpretação...
extraño en un sentido existencial particularmente intenso, de
modo que en el caso extremo sean posibles conflictos con él,
los cuales no puedan ser decididos ni a través de una norma-
tiva general ya prevista, ni a través del dictamen de un terce-
ro ‘desinteresado’ o ‘imparcial’”.59 El concepto secundario o
“política” sin más se refiere en cambio a la situación normal
o institucional de la política como decisión sobre políticas pú-
blicas, o a la competencia electoral, el debate parlamentario,
el ejercicio del poder de policía, etc., todo lo cual asume un
acuerdo cuasi-moral o legal, i.e. la resolución de la situación
agonal o la superación de la situación descripta por el concep-
to primario de lo político.60
En efecto, volvamos a Waldron. En realidad, a pesar de sus
críticas a Rawls, Waldron es más rawlsiano de lo que cree.61
Su teoría de la autoridad sólo complementa lo que Rawls no
ofrece, pero no va mucho más allá. Si bien Waldron sostiene
que una de las contribuciones de Hobbes a la filosofía políti-
ca es que “cualquier teoría que haga depender a la autoridad
de la bondad de los resultados políticos es auto-frustrante, ya
que es precisamente porque la gente está en desacuerdo acerca
de la bondad de los resultados que necesita establecer y reco-
nocer una autoridad”,62 Waldron en realidad termina supo-
niendo que hay suficiente acuerdo para empezar a discutir
en una deliberación. En efecto, la solución que Waldron da
al conflicto es que según las circunstancias de la política los
desacuerdos sobre derechos y justicia tienen que ser resuel-
54 Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen, op. cit., pp. 26-7.
55 Ibidem, p. 30.
56 Quizás Waldron fue un poco injusto con Rawls. En realidad, si bien Rawls
no presta atención en su teoría de la justicia a la autoridad eso no se debe a que no
le preocupe el tema o a que asuma que la democracia en general y la autoridad en
particular deban estar subordinada al puro razonamiento filosófico de la teoría de la
justicia y que la misma sólo deba ser implementada por jueces y administradores ale-
jados de la política. Si bien la justicia como equidad no es una teoría de la democracia
y diga poco sobre la política democrática, de ahí no se siga que no sea en absoluto
una contribución al pensamiento democrático. V. Joshua Cohen, “For a Democratic
Society”, en Samuel Freeman (ed.), The Cambridge Companion to Rawls, Cambridge,
Cambridge University Press, 2003, p. 87).
57 J. Waldron, Law and Disagreement, op. cit., p. 245.
Norma, moralidade e interpretação... - 135
tos mediante derechos especiales o de segundo orden, i.e. el
derecho a participar en las discusiones sobre derechos. Los
participantes “quieren estar entre los que determinan las me-
tas sociales y concepciones del bien común en relación a los
cuales la administración política y la instrumentalidad polí-
tica será definida”.63 Ante la pregunta de quién decidirá qué
derechos tenemos, la respuesta de Waldron es que “la gente
cuyos derechos están en cuestión tiene el derecho de parti-
cipar en iguales términos en esa decisión”.64 Por lo tanto, la
diferencia entre las posiciones políticas tiene lugar en última
instancia siempre ya dentro de cierto consenso. Un schmittia-
no rápidamente advertiría que Waldron mismo termina expo-
niéndose a la misma crítica que Waldron le hace a Rawls, i.e.,
no enfrenta el problema clave de la filosofía política: “incluso
sobre las cuestiones que creemos son las más importantes, una
decisión común puede ser necesaria a pesar de la existencia
de desacuerdo acerca de cuál deba ser esa decisión”.65 Por el
contrario, esto es precisamente lo que un schmittiano se toma-
ría en serio.
Otro tanto sucedería con Raz. Si bien él defiende una
concepción maximalista de la autoridad, su teoría asume
que hay razones que la autoridad no puede excluir, ya que
una “razón para no actuar según otras razones no puede
ser última. Debe estar justificada por consideraciones más
básicas”.66 Como hemos visto, según Raz algunos errores
simplemente descalifican la autoridad. El sentido de la au-
toridad raziana consiste ´precisamente en desempeñar el
papel de mediador entre dichas razones más básicas para
actuar que se nos aplican con independencia de la autoridad
y nosotros mismos.
Schmitt, por su parte, también se toma en serio el carácter
maximalista de la autoridad al estar de acuerdo con De Mais-
58 Ibidem, p. 243.
59 Ibidem, p. 244.
60 Ibidem, p. 161.
61 J. Raz, Practical Reason and Norms, op. cit., p. 76.
136 - Norma, moralidade e interpretação...
tre en que toda autoridad es buena por el mero hecho de existir.
Para Schmitt “en la mera existencia de una autoridad reside
una decisión y la decisión a su vez es valiosa como tal, porque
precisamente en las cosas más importantes es más importan-
te que se decida que cómo se decide”. Schmitt de este modo
comparte con Waldron el énfasis en que en política el punto
no es que una cuestión sea decidida de tal o cual manera, sino
que lo sea sin retraso y sin apelación. En la práctica no hay
diferencia entre “no estar sometido a error alguno y no poder
ser acusado de un error; lo esencial es que ninguna instancia
superior examine la decisión”.67 Pero a diferencia de Waldron
y de Raz, Schmitt parece no someter la decisión política a con-
senso previo alguno. De ahí que habría que tomarse en serio
la analogía con la creación a partir de la nada. De hecho él
llega a afirmar que la “decisión, observada normativamente,
nace a partir de la nada. La fuerza jurídica de la decisión es
algo distinto del resultado de la fundamentación”.68
Schmitt no sólo rechazaría la tesis raziana del papel me-
diador de la autoridad sino que tampoco aceptaría la com-
paración que hace Raz de la autoridad con el arbitraje para
ilustrar su teoría, ya que cree que:
Un mediador o un árbitro, sin [tener] también poder po-
lítico, pueden disfrutar de una mayor o menor reputa-
ción personal, pero sólo bajo una doble presuposición: la
primera, que las partes en disputa comparten ciertas re-
presentaciones de equidad, honestidad o determinadas
premisas morales; y la segunda, que las contradicciones
todavía no han alcanzado el grado más extremo de inten-
sidad. Allí residen los límites de toda formalidad judicial
y de toda actividad mediadora. El Estado no es sólo la or-
ganización de la Justicia; él es algo diferente de un mero
árbitro o mediador neutral. Su esencia reside en el hecho
de que él toma [trifft] la decisión política.69
62 C. Schmitt, Politische Theologie, op. cit., p. 71.
63 Ibidem, p. 42.
64 Carl Schmitt, Verfassungslehre, Berlín, Duncker & Humblot, 1989, reimp. de
la ed. de 1928, pp. 133-134.
Norma, moralidade e interpretação... - 137
Sin embargo, de la crítica de la insuficiencia política de la
que adolece el tándem a pesar de sus esfuerzos, surge cierta
inestabilidad o tensión dentro de la propia posición de Sch-
mitt. En efecto, hemos que visto que la crítica de Schmitt con-
siste en que el tándem cuenta con una teoría inadecuada del
conflicto político y de la autoridad del derecho, y dicha inade-
cuación se debe en ambos casos al carácter minimalista de la
explicación. Ni el conflicto político ni la autoridad del derecho
tal como son pensados por el tándem son lo suficientemente
extremos para Schmitt. Según Schmitt el orden político no es
una forma neutral o universal sino una forma que tiene ori-
gen (y está constantemente atravesada) por una parcialidad
concreta, por una excepción polémica, por una crisis políti-
ca radical; y tal origen se hace ‘orden’ sólo a través de una
provisoria neutralización activa, es decir gracias al esfuerzo
soberano de continua creación… de orden”.70 Dicho en otras
palabras, Schmitt trata de neutralizar el conflicto político sin
perder de vista el carácter provisorio de dicha neutralización;
esto es a lo que se refiere la expresión “neutralización activa”
o “positiva” en la jerga schmittiana. Pero entonces se plantea
la cuestión de la compatibilidad de la teoría schmittiana del
conflicto con la de la autoridad. Precisamente, Schmitt ha sido
interpretado de manera bifronte como “gran subversor que
introduce la negación y el desorden al interior de la política, y
gran restaurador neoclásico que hace de la política la dimen-
sión de la búsqueda del orden”.71
En efecto, Schmitt no sólo defiende la tesis de la autono-
mía de lo político sino además la tesis de la inevitabilidad del
conflicto político. Para Schmitt en líneas generales: “nada pue-
de escaparse… de lo político”,72 y por lo tanto sería perverso
tratar de suprimir el conflicto político ya que la despolitiza-
ción en realidad persigue fines políticos a su vez y termina
65 C. Galli, Genealogia della politica, op. cit., p. xiv.
71 Ibidem, p. v.
72 C. Schmitt, Der Begriff des Politischen, op. cit., p. 36.
138 - Norma, moralidade e interpretação...
criminalizando al enemigo político.73 Para decirlo en términos
más schmittianos aunque no de Schmitt: “Si el origen de la
política no es reconocido y controlado, se afirma igualmente,
pero en modalidad destructiva: su lado excepcional deviene
hostilidad absoluta, y su lado ordenador deviene formalismo
inerte e informe”.74
Podemos obtener una conclusión similar a partir del aná-
lisis del concepto mismo de lo político schmittiano. En efecto,
ya hemos visto la prioridad que tiene en Schmitt el concepto
agonal de lo político por sobre la política normal, prioridad que
incluso se aplica a la relación de lo político con el Estado: “El
concepto del Estado presupone el concepto de lo político”.75
Ahora bien, en principio la prioridad de lo político por sobre
el Estado parece ser conceptual antes que normativa: si bien
Schmitt reconoce la prioridad conceptual de lo político por
sobre el Estado, él aboga por la prioridad normativa del Esta-
do por sobre lo político para poder precisamente neutralizar
el conflicto. De ahí que él crea que “el agrupamiento decisivo
amigo-enemigo” no podría emerger dentro de la unidad po-
lítica “sin que con la unidad también lo político mismo fuese
destruido”.76 Es por eso que según Schmitt la
tarea de un Estado normal consiste… sobre todo en lle-
var a cabo una pacificación total dentro del Estado y su
territorio, establecer “calma, seguridad y orden” y de ese
modo crear la situación normal, (…). Esta necesidad de
pacificación intra-estatal conduce en situaciones críticas
a que el Estado determine por sí mismo, en la medida en
que exista, también el “enemigo interno”. En todos los Es-
tados hay por lo tanto en alguna forma lo que la doctri-
na del Estado de las repúblicas griegas conocía como la
declaración de polémios, la doctrina romana del Estado
como declaración de hostis,…, proscripción, …, en una
palabra, la declaración del enemigo interno-estatal.
73 V. ibidem, p. 69
74 C. Galli, Genealogia della politica, op. cit., p. 6.
75 C. Schmitt, Der Begriff des Politischen, p. 20.
76 Ibidem, p. 45.
Norma, moralidade e interpretação... - 139
Pero Schmitt finaliza este pasaje con una aclaración que
abre la puerta a la otra cara de lo político: “Esto es, dependiendo
del comportamiento del declarado como enemigo del Estado, la señal
de la guerra civil, i.e. de la disolución del Estado como una
unidad política en sí organizada, pacificada, territorialmente
cerrada en sí misma e impenetrable para los extraños. A tra-
vés de la guerra civil se decide entonces el futuro próximo de
esta unidad”,77 sugiriendo al menos que el caso central de lo
político no sólo contiene la guerra externa o situaciones en las
cuales el soberano o una latente estatalidad tienen la iniciativa
tales como la dictadura soberana, el estado de excepción o es-
tado de sitio, sino incluso la guerra civil. En efecto, Schmitt se
refiere al “antagonismo dentro del Estado constitutivo para el
concepto de lo político”,78 y en otro pasaje le confiere carácter
expresamente político a la guerra civil:
Cuando dentro de un Estado las antítesis partidarias
totalmente se convierten en “las” antítesis políticas, en-
tonces se alcanza el grado extremo del continuo, i.e. los
agrupamientos amigo-enemigo internos, no los externos
son decisivos para la oposición armada. La posibilidad
real de la lucha, la cual siempre debe estar presente para
que se puede hablar de política, ya no se refiere conse-
cuentemente en el caso de tal “primado de la política in-
terna” a la guerra entre unidades nacionales organizadas
(Estados o imperios) sino a la guerra civil.79
Entonces, a pesar de su fachada típicamente conservado-
ra, Schmitt es un “conflictualista”.80 De ahí que la crítica al
tándem nos permite detectar un dilema dentro de la teoría
schmittiana. O bien explica la autonomía de la política en tér-
minos de conflicto, en cuyo caso la inevitabilidad del conflicto
político schmittiano parece ser incompatible con la posibili-
dad del orden político no menos schmittiano, o bien explica
el orden y la autoridad pero a expensas de la autonomía de la
77 Ibidem, pp. 46-7. [énfasis agregado].
78 Ibidem, p. 30.
79 Ibidem, 32.
80 C. Galli, Genealogia della politica, op. cit., p. 589.
140 - Norma, moralidade e interpretação...
política y sobre todo de la tesis de la inevitabilidad del conflic-
to político. En resumidas cuentas, incluso si asumiéramos que
el tándem no puede explicar satisfactoriamente el conflicto
político y la autoridad del derecho, Schmitt tendría sin em-
bargo que elegir entre la explicación de uno u otro, resignán-
dose a no poder explicar ambos a la vez, lo cual, no debemos
olvidar, era precisamente su aspiración.
V. LO QUE QUEDA DE SCHMITT
Eso no implica, sin embargo, que los cultores del tándem
podamos deshacernos de Schmitt tan fácilmente. En primer
lugar, el reconocimiento de que lo político tiene dos caras qui-
zás sea el precio que tenga que pagar toda teoría que quiera
defender la autonomía de la política, o, para decirlo de otro
modo, que quiera evitar la moralización de lo político. En se-
gundo lugar, no hay que olvidar que el contenido de la crítica
schmittiana al tándem es correcta, aunque no se le aplique. La
versión contemporánea del tándem, a su modo, lo reconoce
al tratar de acomodar la autonomía de la política y el carácter
autoritativo del derecho. En las palabras de un reconocido li-
beral como Bernard Williams,
Carl Schmitt famosamente dijo que la relación política
fundamental era la de amigo y enemigo. Esta es una ob-
servación ambigua, y puede adquirir un tono más bien
siniestro reconociendo la historia de las propias relacio-
nes de Schmitt con la República de Weimar y eventual-
mente con el Tercer Reich. Pero es básicamente verdade-
ra en al menos este sentido, que la diferencia política es
de la esencia de la política, y la diferencia política es una
relación de oposición política antes que, en sí misma, una
relación de desacuerdo intelectual o interpretativo.81
En tercer lugar, la prioridad schmittiana del concepto
agonal de lo político que conlleva decisiones que implican la
81 Bernard Williams, In the Beginning was the Deed, ed. Geoffrey Hawthorn,
Princeton, Princeton University Press, 2005, p. 78.
Norma, moralidade e interpretação... - 141
inclusión de algunos dentro de cierto grupo y por lo tanto la
exclusión de otros82 podría alertarnos acerca del hecho de que
para que pueda tener lugar no sólo la política normal sino in-
cluso la autoridad maximalista schmittiana misma hace falta
recurrir a cierto principio de “asociación negativa”83 el cual es
el que da lugar a la comunidad política. Según dicho principio,
una serie de individuos que se encuentran en una situación
inicial puramente inter-individual estarían de acuerdo en que
si se formara un grupo conformado por todos los individuos
excepto uno por lo menos, a todos los individuos que forman
parte de dicho grupo les iría mejor que si permanecieran en la
situación puramente inter-individual, quizás con la salvedad
de quienes fueran excluidos. A su vez, dicha exclusión o in-
clusión para el caso no podría explicarse en términos morales
sino que la diferencia entre los excluidos y los incluidos es
estrictamente política.
Tal principio en realidad opera no sólo a nivel fundacio-
nal sino que además permite la conservación de la asociación
política en cuestión. Mientras que la asociación negativa ori-
ginaria es la que permite la creación de una comunidad, la
emergencia de la acción colectiva, la asociación negativa con-
servadora es la que requiere de una exclusión para conservar
precisamente el orden político dado.
En efecto, un schmittiano podría sostener que si bien el
tándem se ha avocado a su modo al tratamiento del conflicto
político y de la autoridad del derecho, ha sido sin embargo
renuente a teorizar el principio de la asociación negativa. Así
y todo, ha habido intentos para articular una teoría política
nacionalista liberal como por ejemplo el proyecto nacionalista
de David Miller,84 así como de ofrecer una teoría liberal que
dé cuenta satisfactoriamente de los orígenes de una comu-
82 C. Galli, Genealogia della politica, op. cit., p. 648.
83 V. Ioannis Evrigenis, Fear of Enemies and Collective Action, Cambridge,
Cambridge University Press, 2007, p. 119. Cf. el principio del “chivo expiatorio” en
René Girard, De la violence à la divinitè, Paris, Grasset, 2007, p. 582.
84 David Miller, On Nationality, Oxford, Oxford University Press, 1995.
142 - Norma, moralidade e interpretação...
nidad política. En efecto, un destacado liberal como Thomas
Nagel ha afirmado recientemente que “todo Estado tiene las
fronteras y la población que tiene por toda suerte de razones
accidentales e históricas”85 y sostenido que “si observamos el
desarrollo histórico de las concepciones de justicia y legitimi-
dad para el Estado-Nación, aparece que la soberanía usual-
mente precede a la legitimidad. (…). La guerra puede resultar
en la destrucción de un poder soberano, conduciendo a re-
configuraciones de soberanía en respuesta a las pretensiones
de legitimidad”.86 Habiendo Nagel primero afirmado en un
espíritu schmittiano que “los estándares completos de justi-
cia, aunque pueden ser conocidos mediante el razonamiento
moral, sólo se aplican dentro de las fronteras de un Estado so-
berano, sin que importe cuán arbitrarias sean estas fronteras”
y que “Internacionalmente bien puede haber estándares, pero
no merecen el nombre completo de justicia”,87 la conclusión
hobbesiana de Nagel, tal como él mismo lo reconoce, es que
“el camino de la anarquía hacia la justicia debe ir a través de
la injusticia”.88
En donde los liberales pueden llegar a tener más dificulta-
des es en el intento de teorizar la exclusión esencialmente po-
lítica que permite la conservación de un orden político liberal.
En efecto, en palabras de un ralwsiano confeso como Burton
Dreben, “el propósito entero del liberalismo político es ser tan
neutral como sea posible respecto a todas las doctrinas com-
prehensivas. Las únicas doctrinas comprehensivas respecto
a las cuales no es neutral son esas que son irrazonables”.89
De manera similar otro rawlsiano como Samuel Freeman ha
sostenido que “el pluralismo razonable, no el pluralismo per
85 Thomas Nagel, “The problem of global justice”, Philosophy and Public
Affairs, 33, 2005, p. 121.
86 Ibidem, p. 145.
87 Ibidem, p. 122.
88 Ibidem, p. 147.
89 Burton Dreben, “On Rawls and Political Liberalism”, en S. Freeman (ed.),
The Cambridge Companion to Rawls, Cambridge, Cambridge University Press,
2003, p. 326.
Norma, moralidade e interpretação... - 143
se, define los parámetros y el alcance de la razón pública.
Esto significa, primero, que la razón pública no busca diri-
girse a personas irrazonables o a doctrinas irrazonables en
sus esfuerzos por justificar leyes y políticas públicas. De este
modo… no hay presunción alguna de que los darwinistas so-
ciales, fundamentalistas, neo-Nazis o poseedores sureños de
esclavos serían dóciles a la razón pública”.90 El hecho de que
en otras épocas el lugar reservado por los defensores de la
neutralidad para los darwinistas sociales, fundamentalistas,
etc., era ocupado por los turcos, árabes, judíos, herejes, etc.,
nos podría hacer creer que esta manera de describir al libe-
ralismo político roza la paradoja de la perfección: el liberalis-
mo político parece partir de la presunción de que es perfecto
porque no excluye a nadie que no lo merece, y de ahí puede
haber un corto paso a creer que no excluye a nadie que no
lo merece porque el liberalismo es perfecto.91 Sin embargo, la
discusión acerca de si el tándem puede salir airoso de este
desafío es algo que lamentablemente tendrá que quedar para
otra oportunidad.
90 S. Freeman, “John Rawls—An Overview”, en S. Freeman (ed.), The Cam-
bridge Companion to Rawls, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 40.
86 Shlomo Avineri, “War and Slavery in More’s Utopia”, International Review
of Social History, 7, 1962, p. 289, cit. por Jens Bartelson, A Genealogy of Sovereignty,
Cambridge, Cambridge University Press, 1995, p. 271.
144 - Norma, moralidade e interpretação...
Despolitização e crítica social:
cinco teses1
Alessandro Pinzani
UFSC/CNPq
Tornou-se quase um lugar-comum afirmar que o debate
político nas últimas décadas mudou seu foco das questões de
justiça distributiva para questões de identidade. O grande su-
cesso das várias teorias do reconhecimento2 coincide com o
declínio do interesse teórico por questões como a redistribui-
ção da renda e da riqueza no nível nacional (e, cronologica-
mente, com os anos do aparente triunfo final do capitalismo
após a queda do Muro de Berlim), enquanto o debate sobre
justiça distributiva no nível internacional ainda é nutrido por
pensadores “cosmopolitas” como Thomas Pogge3 e outros –
mesmo que a partir de uma perspectiva normativa pura que
julgo questionável por razões que serão expostas em seguida.
Concordo em parte com este diagnóstico, já que não
deixam de existir teóricos que se ocupam de questões de
justiça distributiva (o saudoso Brian Barry, por ex., e vários
autores de língua francesa4); mas é um fato que na filoso-
87 Agradeço os participantes do Colóquio de Filosofia Política e do Direito
(Porto Alegre, outubro de 2009) pelos comentários e Fernando Coelho pela revisão
linguística deste texto.
88 TAYLOR, Charles. Multiculturalism. Examining the Politics of Recognition.
Ed. by A. Gutmann, with essays by K. A. Appiah, J. Habermas, St. C. Rockefeller, M.
Walzer and S. Wolf. Princeton (NJ): Princeton University Press, 1994; HONNETH,
Axel. Luta por reconhecimento. A gramática moral dos conflitos sociais. São Paulo: Editora
34, 2003; RICOEUR, Paul. Percurso do reconhecimento. São Paulo: Loyola, 2006.
89 Por ex.: POGGE, Thomas. World Poverty and Human Rights. Cambridge:
Polity Press, 2002.
90 BARRY, Barry. Why Social Justice Matters. Cambridge: Polity Press, 2005;
BOLTANSKI, Luc / CHIAPELLO, Ève. Le nouvel esprit du capitalisme. Paris : Galli-
mard, 1999; RENAULT, Emmanuel. L’expérience de l’injustice. Reconnaissance et clinique
de l’injustice. Paris: La Découverte, 2004.
Norma, moralidade e interpretação... - 145
fia acadêmica mainstream, aquelas das universidades norte-
americanas e européias, o tema da identidade cultural é o
tema de discussão. Se na década entre a metade dos anos
oitenta e a metade dos noventa o tema era a crítica comu-
nitarista ao liberalismo (debate parcialmente retomado pela
discussão sobre republicanismo que, contudo, parece ter-se
já tornado secundária ou ficar limitada a determinadas áreas
linguísticas, principalmente, no momento, à hispanófona5),
hoje o debate político-filosófico concentra-se sobre o assunto
do multiculturalismo e das políticas identitárias. Ao mesmo
tempo, assiste-se a uma jurisdicização da política no sentido
de uma leitura dos conflitos políticos na forma de conflitos
jurídicos que podem ser resolvidos pela ação dos tribunais
com base em princípios morais6 ou com base nos princípios
presentes nas normas constitucionais; ou que podem ser
resolvidos alcançando-se o consenso entre os membros da
comunidade política sobre normas jurídicas7. Nesta minha
intervenção, pretendo analisar algumas consequências teóri-
cas e mesmo práticas destes fenômenos. Pretendo, em suma,
oferecer algumas bases para uma fenomenologia das posições
teórico-políticas dominantes na atualidade, sem, contudo, as
elaborar completamente. Serei muito apodíctico, já que uma
análise pormenorizada necessitaria de muito tempo e prefi-
ro discutir com vocês minha interpretação a acumular teste-
munhos e referências bibliográficas. Portanto, formularei tal
interpretação na forma de teses – algumas delas, a meu ver,
assaz triviais, mas que no debate filosófico-político atual não
parecem tão óbvias.
91 Cf. por exemplo: CONILL, Jesús e CROCKER, David A. (eds.). Republica-
nismo y educación cívica. ¿Más allá del liberalismo?. Granada: Editorial Comares, 2003;
DE FRANCISCO, André. Ciudadania y democracia. Un enfoque republicano. Madrid: Ca-
tarata, 2007.
92 Por exemplo em: DWORKIN, Ronald. Freedom’s Law. The Moral Reading of
the American Constitution. Cambridge (MA): Harvard University Press, 1996.
93 Paradigmático neste sentido HABERMAS, Jurgen. Direito e democracia. En-
tre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2002.
146 - Norma, moralidade e interpretação...
Primeira tese: A esfera do político é aquela onde surgem
conflitos que pretendem ser resolvidos publicamente. Tais
conflitos, contudo, só parcialmente são conflitos identitá-
rios ou pelo reconhecimento. Não é fácil definir exatamente
o que se entende por “político”. Contudo, creio que a pior ma-
neira de defini-lo é o recurso à canônica dupla schmittiana de
“amigo vs. inimigo”. Schmitt introduz estas categorias num
contexto polêmico (como sempre) e partindo de uma visão
na qual o que está em questão no âmbito do político é antes
de tudo a própria existência da comunidade.8 A dupla cate-
gorial “amigo vs inimigo” é interpretada por ele literalmente
no sentido de uma luta pela vida e pela morte entre diferen-
tes grupos. Quando a luta é travada entre entidades políticas
separadas, temos uma guerra no sentido tradicional; quando
é travada no interior de uma mesma comunidade nos depa-
ramos com uma guerra civil. Sinceramente não sei o quanto
tais categorias podem tornar-se úteis para pensar “o político”
e, ainda mais, a política – seja ela entendida como for (como
busca pacífica por um consenso ou como conflito não béli-
co entre interesses opostos). Digo isto não para ridicularizar
o pensamento de Schmitt (antes: seus escritos sobre a Gross-
raumordnung e sobre o nomos da terra me parecem extrema-
mente fecundos e atuais9), mas a fim de apontar para um
equívoco teórico comum: o fato de a política (ou o político)
ser caracterizada por uma situação de conflito não significa
sempre e necessariamente que ela implique a contraposição
de dois grupos empenhados numa luta para afirmar a própria
existência contra a do outro. Numa visão deste tipo (isto é: da
política como luta pela afirmação de si por parte de grupos),
1 SCHMITT, Carl. O conceito do político. Petrópolis: Vozes, 1992. Sobre o as-
pecto existencial da dupla categorial “amigo/inimigo” ver HOFMANN, Hasso. Legi-
timität gegen Legalität. Der Weg der politischen Philosophie Carl Schmitts. 4. Auflage mit
einer neuen Einleitung. Berlin: Duncker & Humblot, 2002 e MEIER, Heinrich. Die
Lehre Carl Schmitts. Vier Kapitel zur Unterscheidung Politischer Theologie und Politischer
Philosophie. 2. Auflage. Stuttgart: Metzler, 2004.
2 SCHMITT, Carl. Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Euro-
paeum. Berlin: Duncker & Humblot, 1950; _____________. Land und Meer. Eine weltge-
schichtliche Betrachtung, Stuttgart: Klett-Cotta, 1954.
Norma, moralidade e interpretação... - 147
o objeto da política é a definição de uma identidade coletiva.
Isso representa uma redução injustificada dos conflitos que
caracterizam a esfera da política a conflitos identitários10.
Permitam-me fazer uma breve digressão “erudita”. Se
examinarmos suas raízes históricas, as teorias da identida-
de e as políticas identitárias às quais elas servem de base são
tendencialmente reacionárias. Uso o termo “reacionário” pen-
sando nas primeiras formulações modernas de tais teorias na
Alemanha durante as chamadas Guerras de Libertação contra
os invasores franceses. Na visão de autores como Fichte e ou-
tros, a oposição do povo alemão e do povo francês dá-se sob
o signo de uma diferença que é, em primeiro lugar, espiritual.
É a conhecida contraposição entre raison e humanité por um
lado e Vernunft e Volksgeist por outro. Entre o Iluminismo céti-
co, irônico, cosmopolita de Voltaire e Diderot e o Romantismo
imbuído de profundidade metafísica, de pesada seriedade, de
espírito popular. Se o primeiro busca seus modelos nos céus
luminosos e claros da Antiguidade mediterrânea, o segundo
idealiza os séculos escuros da Idade Média e exalta as som-
brias florestas do norte da Europa. Mais uma vez, é travada
a luta entre Varo e Armínio, entre a romanitas que pretende
exportar seus valores ao mundo inteiro e os povos locais que
defendem sua cultura (bárbara, mas autêntica; brutal, mas
incorrupta) contra a decadência moral de uma potência téc-
nica e juridicamente superior. Como Armínio conseguiu re-
sistir às tropas romanas, o povo alemão deve agora resistir
às tropas francesas, armadas não somente com sua superio-
ridade militar, mas também com seus ideais revolucionários.
Se a França pretende difundir no mundo as palavras de or-
dem da Revolução: Liberté, Egalité, Fraternité, a nação alemã (já
que a Alemanha como Estado ainda não existe) tem o direito
de seguir seu Sonderweg, seu caminho peculiar, sem se dei-
xar conquistar pelos ideais vazios do liberalismo cosmopolita
3 Sobre este ponto (e em relação a Schmitt) ver AZZARITI, Gaetano. Critica
della democrazia identitaria. Lo Stato costituzionale schmittiano e la crisi del parlamentaris-
mo. Roma e Bari: Laterza, 2005.
148 - Norma, moralidade e interpretação...
(argumentos análogos são usados pelos críticos democrático-
nacionalistas de Hegel como Haym, que viam nas doutrinas
políticas do filósofo da Suábia uma inaceitável apropriação de
ideias alheias ao espírito alemão porque oriundas da Revo-
lução Francesa11). Na sua fase nacionalista, que vai até 1920-
21, Thomas Mann contrapõe mais uma vez a França e a Ale-
manha usando o binômio conceitual Zivilisation e Kultur12.
A primeira indica um intelectualismo “vazio” centrado no
liberalismo e num individualismo materialista (como aquele
do seu irmão Heinrich que ele denomina com desprezo de
Zivilisationsliterat), enquanto a segunda indica uma relação
orgânica com o espírito de um povo e a busca de uma pro-
funda verdade metafísica que está na base da cultura popular.
Nesta visão, ao liberalismo cosmopolita (considerado expres-
são de materialismo vulgar e de individualismo egoísta que
teria alcançado o ápice na Revolução Francesa) contrapõe-se
uma posição centrada nos conceitos de cultura e de povo e
que faz amplo uso de predicados como “verdadeiro”, “autên-
tico”, “espiritual”. A verdade ética e a autenticidade estão, em
suma, do lado da cultura, da comunidade, não do indivíduo.
Obviamente, “cultura” ou “povo” são considerados conceitos
originários e não problemáticos – exatamente como no mul-
ticulturalismo contemporâneo. E como no multiculturalis-
mo contemporâneo, as diferentes culturas formam unidades
compactas e fechadas ao exterior, como bolas de bilhar (de
acordo com a bela imagem de Richard Tully13) ou como peças
de um mosaico (de acordo com a imagem de Seyla Benha-
bib14). Nesta visão, pertencer a uma comunidade cultural ou
étnica constitui para o indivíduo um fado inescapável (ideia
4 Sobre as críticas de Haym a Hegel ver em português: LOSURDO, Dome-
nico. Hegel, Marx e a tradição liberal. Liberdade, igualdade, Estado. São Paulo: Editora
UNESP, 1997.
5 MANN, Thomas. Betrachtungen eines Unpolitischen. Berlin: Fischer, 1918.
6 TULLY, James. Strange Multiplicity. Constitutionalism in an Age of Diversity.
Cambridge: Cambridge University Press, 1995, p. 10.
7 BENHABIB, Seyla. The Claims of Culture. Equality and Diversity in the Global
Era. Princeton: Princeton University Press, 2002, p. 8.
Norma, moralidade e interpretação... - 149
esta bem expressa pelo termo alemão Schicksalsgemeinschaft,
ou seja, comunidade de destino). A comunidade possui pe-
rante os indivíduos exigências absolutas que obrigam estes
a submeter-se a ela, sacrificando seus fins e interesses parti-
culares. Esta é a base teórica daquelas leis que permitem, por
ex., a algumas comunidades indígenas norte-americanas em-
possarem-se das terras de seus membros se estes resolverem
casar com indivíduos que não pertencem à tribo; mas é tam-
bém a base teórica para as políticas que visam impor o francês
como língua pública no Québec até contra aqueles québécois
que prefiram recorrer ao inglês. A própria noção de direitos
coletivos se põe numa relação de inconciliabilidade com a
noção de direitos individuais, já que os primeiros são usados
antes de tudo contra os próprios membros da coletividade. A
polêmica multiculturalista contra o liberalismo ameaça jogar
fora a criança com a água suja (como diz um ditado alemão),
chegando a negar os direitos dos indivíduos em nome dos
de grupos culturais de duvidosa definição, já que um grupo
cultural nunca é uma bola de bilhar e nunca tem limites cla-
ramente definidos – muito pelo contrário: ele é o resultado de
um processo de osmose e de negociação com os outros gru-
pos com os quais ele entra em contato. Longe de ter grupos
que convivam um ao lado do outro como peças separadas de
um mosaico, o que temos na realidade é uma aquarela em
que os vários grupos, mais ou menos homogêneos, se mis-
turam uns com os outros como mancha de cores diferentes.
Cada grupo possui elementos culturais que, ao contato com
aqueles oriundos de outras culturas, mudam sua natureza e
seu sentido, mudando assim a própria definição do grupo em
questão. Assim, por ex., o Brasil colonial ou o Brasil imperial
não são o mesmo Brasil após ter recebido a imigração alemã
e italiana, bem como os colonos alemães e italianos perderam
sua “identidade” originária em contato com a nova realidade
na qual vieram inserir-se. Neste contexto, falar em “cultura
brasileira” resulta num conceito bastante vazio, tanto quan-
150 - Norma, moralidade e interpretação...
to falar em “cultura alemã” ou “italiana” para referir-se aos
grupos de colonos mencionados. As teorias do multicultura-
lismo representam, portanto, um duplo aspecto problemáti-
co: primeiro, utilizam como conceito óbvio e não questioná-
vel a noção de cultura; segundo, reduzem questões de justiça
a meras questões de direitos culturais coletivos que podem
ser exigidos contra os governos de Estados multinacionais ou
multiculturais.
Uma redução análoga a esta última encontra-se nas teo-
rias que reduzem todo e qualquer conflito político a uma luta
por reconhecimento – como se, por ex., o conflito que opõe
trabalhadores e empresários fosse resolvível no momento em
que estes últimos reconhecessem a contribuição dada pelos
primeiros atribuindo-lhes uma justa recompensa (esta é a po-
sição de Honneth ao utilizar o conceito de Leistung ou contri-
buição como base para o reconhecimento social que deveria
acontecer no âmbito do mercado15). Desta maneira, são des-
considerados outros aspectos como – para continuar no nos-
so exemplo da relação entre trabalhadores e empresários – o
fenômeno da mais-valia, que torna impossível o próprio con-
ceito de justa recompensa, ou a assimetria entre o fato de os
trabalhadores assalariados compartilharem com os empresá-
rios os riscos (durante uma crise de produção ou de mercado,
ou em caso de falência da empresa), mas não compartilharem
com eles os ganhos, nem quando haja prêmios de produtivi-
dade. Conflitos econômicos deste tipo não podem ser descri-
tos meramente em termos de reconhecimento ou de identida-
de, ainda que muitas vezes estes aspectos estejam presentes
em tais conflitos, como salienta Nancy Fraser na sua polêmica
com Honneth16. Isto nos leva à minha segunda tese.
8 HONNETH, Axel. Umverteilung als Anerkennung. Eine Erwiderung auf
Nancy Fraser. In: FRASER, Nancy e HONNETH, Axel. Umverteilung oder Anerken-
nung? Eine politisch-philosophische Kontroverse. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2003, p.
129-224.
9 FRASER, Nancy. Soziale Gerechtigkeit im Zeitalter der Identitätspolitik.
Ebda., p. 13-128.
Norma, moralidade e interpretação... - 151
Segunda tese: A substituição de temáticas de justiça dis-
tributiva por questões identitárias abre o caminho para um
encolhimento da política e à sua progressiva substituição
pelo direito. Talvez Slavoj Žižek tenha razão ao dizer que o
multiculturalismo ou as teorias da identidade são instrumen-
tos ideológicos a serviço do capitalismo17 que só distraem
nossa atenção dos verdadeiros problemas que marcam nos-
sa vida – problemas que em sua maioria estão ligados a este
último, mais do que à questão da nossa identidade cultural
ou do reconhecimento de nossa contribuição (sem, com isso,
querer reduzir todos os possíveis problemas passíveis de solu-
ção política a problemas econômicos ligados à existência do
capitalismo, naturalmente). Em outras palavras: ao colocar no
centro da atenção da teoria e da prática política questões de
identidade e/ou de reconhecimento, acaba-se por deixar de
lado ou até por esconder questões bem mais relevantes como
aquelas ligadas à exploração e destruição da natureza, que
ameaçam seriamente a vida de todos, ou à distribuição dos re-
cursos (da renda e da riqueza, mas também do saber científico
e tecnológico, ou até de recursos físicos como água potável,
etc.). Em vez de pôr no centro de sua reflexão tais fenôme-
nos, que remetem à própria estrutura de nossas sociedades
e ao verdadeiro sentido do termo globalização, isto é: a ex-
pansão mundial do sistema econômico capitalista, as teorias
do reconhecimento focam o lado subjetivo das experiências
de injustiça dos indivíduos, sem, contudo, tocar nas causas
estruturais de tal injustiça.
Este deslocamento da atenção abre espaço à tão critica-
da judicialização da política, já que questões identitárias ou
de reconhecimento tendem a ser resolvidas através da recla-
mação de direitos nas cortes, antes de o serem por meio de
uma discussão sobre políticas públicas. Ora, em determina-
das circunstâncias, o recurso aos tribunais, particularmente
aos tribunais constitucionais, parece quase inevitável: é este
10 ŽIŽEK, Slavoj. Ein Plädoyer fur die Intoleranz. Wien: Passagen Verlag, 1998.
152 - Norma, moralidade e interpretação...
o caso de minorias discriminadas que não conseguem obter
o reconhecimento de iguais direitos por parte da maioria.
Um bom exemplo é oferecido pelos gays em sociedades nas
quais a maioria da população é tendencialmente homofóbica.
Nestes casos, os direitos civis de uma minoria não podem ser
abandonados à mercê de uma maioria hostil, como aconteceu
recentemente na Califórnia com o referendum sobre a Propo-
sition 8. É, contudo, questionável que o recurso aos tribunais
se transforme num instrumento habitual para promover in-
teresses específicos sem submetê-los ao escrutínio da opinião
pública (o que, obviamente, não é o caso dos gays, já que eles
aspiram meramente à paridade no gozo de direitos civis fun-
damentais). Assistimos neste caso não somente a uma juris-
dicização, mas a uma verdadeira despolitização dos confli-
tos públicos. Vem à tona aqui uma tensão insanável entre a
perspectiva individualista e a perspectiva da comunidade: os
indivíduos exigem seus direitos e, para este fim, não hesitam
em recorrer aos tribunais; por outro lado, a comunidade se vê
assim privada da possibilidade de estabelecer uma imagem
de si por meio da definição de metas e de valores comuns. É
difícil tomar posição nesta disputa: se, em casos como o da
discriminação dos gays, tendemos a apoiar a luta de indiví-
duos pelos seus direitos, a situação torna-se mais complicada
quando tais diretos são reclamados por adversários de polí-
ticas de cotas, por ex., ou pelos promulgadores de hate spee-
ch que apelam para seu inviolável direito de livre expressão
de opinião. Não há como resolver de antemão tal conflito,
como acreditam os individualistas liberais e libertários, por
um lado, ou os comunitaristas, por outro. Se os primeiros de-
fendem que os direitos individuais deveriam ser garantidos
sempre e de qualquer maneira, inclusive quando são usados
para finalidades que julgamos questionáveis ou eticamente
inaceitáveis, os segundos defendem que tais direitos devem
ceder ao superior direito da comunidade de estabelecer quais
opiniões podem ser defendidas publicamente ou quais com-
Norma, moralidade e interpretação... - 153
portamentos públicos são aceitáveis. Assim, por ex., a Alema-
nha contemporânea se arroga o direito de impedir a exibição
pública de símbolos nazistas e a expressão de posições análo-
gas às do nazismo, visto que ela define sua identidade, entre
outras coisas, pela recusa da ideologia nazista; já a sua vizinha
Dinamarca não opera nenhuma proibição deste tipo, julgando
que o direito de livre expressão é intangível. Difícil dizer qual
dos dois países esteja certo: provavelmente ambos, cada um
da sua maneira. O fato de que indivíduos isolados possam
bloquear uma política pública pelo recurso aos tribunais pode
ser considerado alternativamente um triunfo dos direitos in-
dividuais sobre a tirania do Estado ou um triunfo do egoís-
mo individualista sobre o interesse comum – como no caso de
quem entra na justiça contra a política de cotas ou contra uma
lei de segurança pública como a chamada “lei seca”. A linha
que distingue o herói dos direitos civis do vilão egoísta é mui-
tas vezes sutil e é traçada em lugares diferentes dependendo
da posição de quem a traça (isto não tem nada a ver com a dis-
tinção “amigo / inimigo” de Schmitt, naturalmente). Aparece
aqui o caráter inevitavelmente ideológico do debate político:
os participantes tomam uma posição que nunca é neutra, mas
que é sempre condicionada por um viés teórico especifico do
qual eles mesmos nem sempre estão conscientes. É a isto que
me refiro usando o termo “ideológico”, já que uma boa de-
finição de ideologia, na minha visão, é aquela na qual uma
ideologia é uma visão do mundo que se pretende neutra e
objetiva e com base na qual, portanto, os defensores de visões
alternativas são acusados por sua vez de “ideologia”.
Ao dizer que toda posição é inevitavelmente ideológica, es-
tou afirmando que nosso olhar sobre o mundo é sempre deter-
minado por um conceito fundamental (Žižek, seguindo Lacan,
fala de um significante fundamental18) que dá um sentido a
todo o resto. Assim, na tradicional visão marxista, a democra-
cia como governo do povo significa o domínio do partido como
11 ŽIŽEK, Slavoj. The Sublime Object of Ideology. London: Verso, 2008 [1ª edi-
ção: 1989], p. 95 ss.
154 - Norma, moralidade e interpretação...
verdadeiro representante deste último (isto é: a democracia é
identificada com a ditadura partidária), os direitos individu-
ais são a expressão da sociedade burguesa (e por isto eles são
negados aos cidadãos) etc. Especularmente, na visão liberal, a
democracia formal é considerada a única forma “verdadeira”
de governo do povo (ainda que isto signifique na realidade o
domínio de uma parcela da população – a chamada classe di-
rigente ou até os que possuem a cidadania em países com forte
imigração – sobre o resto) e os direitos devem ser garantidos a
todos (ainda que só de maneira formal, sem que as condições
materiais para sua concreta implementação sejam objeto da po-
lítica pública). O ponto é que esta visão ideológica, longe de
ser expressão de uma cegueira por parte daqueles que a defen-
dem, não esconde aos olhos deles a realidade que ela pretende
negar. Isto é: nos países do Socialismo Real todos sabiam que
a ditadura do partido não era democracia e que a negação dos
direitos individuais era instrumental à manutenção do poder
partidário. Da mesma maneira, os defensores da democracia
liberal sabem que ela se baseia na realidade no domínio de um
grupo sobre outros e que somente os membros do grupo do-
minante gozam de fato de todos os direitos, enquanto no caso
dos outros cidadãos o gozo dos direitos depende de condições
materiais que nem sempre são dadas.
Deste ponto de vista, já que nenhuma visão do mundo é
neutra e objetiva no que diz respeito a questões práticas (isto é,
a questões sociais, econômicas, políticas, religiosas, éticas etc.)
e depende, na realidade, de um conceito ou significante funda-
mental, todas elas são ideológicas, a não ser que elas próprias
se relativizem, reconhecendo o próprio caráter parcial – mas
isto quase nunca acontece. Isto nos leva à minha terceira tese.
Terceira tese: Assim como a resolução pública dos con-
flitos nem sempre se dá no plano do reconhecimento, ela
nem sempre é possível por meio do consenso e não possui
nenhuma relação com a noção de “verdade” prática. Tentarei
Norma, moralidade e interpretação... - 155
dar um exemplo concreto: podemos ler a reação negativa de
boa parte da classe média brasileira (mas não de toda) às polí-
ticas governamentais que visam aliviar ou mudar a condição
dos pobres (do PAC ao Bolsa-Família, do Luz Para Todos ao
Seguro Safra) como expressão de um ato de não reconheci-
mento dos pobres ou como uma defesa dos próprios privilé-
gios ou como sendo ambas ao mesmo tempo. Se continuarmos
numa leitura em termos de reconhecimento, a resposta aos
problemas ligados à pobreza será a de convencer os setores
de classe média em questão a mudarem sua atitude perante
os pobres, esperando que eles renunciem voluntariamente a
seus privilégios. Se optarmos pela leitura em termos de defesa
de privilégios, a resposta será a de intervir diretamente nas re-
lações econômicas e sociais do país e na distribuição da renda
com consciência de que tais medidas serão sempre hostilizadas
por parte da classe média. Uma objeção a esta última leitura
poderia apontar para a necessidade de alcançar um consenso
democrático para a tomada de decisões e a definição de polí-
ticas públicas. Processos decisórios são processos que visam
em primeiro lugar realizar um consenso entre todas as partes.
Chamarei esta visão de consensual ou pseudo-habermasiana
(“pseudo”, já que o próprio Habermas não é tão ingênuo a
ponto de acreditar na possibilidade real de alcançar tal con-
senso em todas as circunstâncias e já que sua teoria parte do
pressuposto – ideal ou ingênuo, conforme a leitura dele seja
benévola ou crítica – de que as partes renunciem a posições
estratégicas e disponham de um núcleo compartilhado de no-
ções para interpretar a realidade de maneira comum, pelo me-
nos em parte: a parte necessária para chegar ao consenso19).
A visão consensual pseudo-habermasiana parte da ideia de
que conflitos de interesses podem sempre e por princípio ser
resolvidos e, quando isso não acontecer, a causa residiria no
fato de uma (ou mais) das partes ter assumido uma atitude
estratégica em vez de visar o consenso. Não consigo ver como
12 Ver entre outros: HABERMAS, Jurgen. Op. cit. [nota 7].
156 - Norma, moralidade e interpretação...
o citado conflito entre trabalhadores e empresários possa ser
resolvido consensualmente. O ponto é que nem todos os con-
flitos políticos (isto é, conflitos passíveis de uma resolução pú-
blica) possibilitam uma resolução única ou definitiva. Como
reconhece o próprio Habermas, resoluções políticas são, mui-
tas vezes, parciais e temporalmente limitadas (particularmen-
te quando vinculadas a maiorias governamentais). Portanto,
elas não necessitam de consenso – pelo menos, não no senti-
do acima exposto – nem para serem concretamente tomadas,
nem para serem legitimadas, já que sua legitimidade deriva
do procedimento pelo qual foram tomadas. O consenso é so-
bre o procedimento (por ex.: o processo decisório democrático
com seus mecanismos de eleição, representação, discussão e
legislação nos parlamentos) e não sobre as decisões. Isto é o
que caracteriza a democracia: há consenso entre os cidadãos
sobre as regras para tomar decisões, ainda que nem sempre
haja consenso sobre o conteúdo específico das decisões20.
Podemos discordar das decisões tomadas por uma maioria
política na qual não nos reconhecemos, mas, uma vez que o
procedimento decisório legítimo tenha sido respeitado (esta é
uma condição essencial), não temos razões para deslegitimar
tais decisões e, ainda menos, tal maioria – como, pelo contrá-
rio, acontece frequentemente na prática. Nestes casos, contu-
do, a contestação demonstra menos a falta de legitimação das
instâncias decisórias e mais a falta de senso democrático dos
contestadores. Para eles, o caráter legítimo de uma decisão
democrática depende, afinal, do fato de ela estar de acordo
com sua própria visão ideológica, não com o fato de ela ter
sido tomada conforme um procedimento legítimo.
Mas a dificuldade do paradigma político baseado no con-
senso (o pseudo-habermasiano assim como o habermasiano
13 Este é um verdadeiro lugar-comum entre os teóricos da democracia e não
preciso remeter a nenhum teórico em particular, já que se trata de um ponto defen-
dido por pensadores tão distantes como o próprio Habermas e, digamos, Giovanni
Sartori (cf. SARTORI, Giovanni. A teoria da democracia revisitada. 1 – O debate contempo-
râneo. São Paulo: Ática, 1994).
Norma, moralidade e interpretação... - 157
propriamente dito) é outra. Ele é modelado sobre uma ques-
tionável analogia entre pretensões de verdade e pretensões
de validade normativa, por um lado, e entre a resolução de
tais pretensões e a resolução de conflitos de interesse, por ou-
tro lado. Sobre a primeira analogia: enquanto pretensões de
verdade podem ser resolvidas apontando para uma percep-
ção compartilhada do mundo (se todos vêem que esta mesa
é amarela, podemos avançar uma pretensão de validade para
a afirmação segundo a qual “esta mesa é amarela”), preten-
sões de validade normativa nem sempre podem ser resolvi-
das apontando para valores, normas, cosmovisões, definições
da boa vida ou conceitos morais compartilhados. Deste ponto
de vista, o apelo para o melhor argumento corre o risco de
ficar vazio, já que os próprios participantes da argumentação
não dispõem de um critério material unívoco para estabelecer
o que conta como tal (um bom exemplo disso é o dissenso
profundo e insanável sobre a natureza ontológica, antes que
moral, dos embriões humanos que divide os participantes do
debate sobre o aborto ou sobre a pesquisa com células-tronco:
os embriões são vidas humanas que merecem proteção jurídi-
ca ou são vidas meramente potenciais que não possuem esta-
tuto moral ou jurídico nenhum?). O consenso sobre normas,
em suma, é possível somente em circunstâncias particulares
que quase nunca se dão no caso de conflitos políticos, já que
nestes dominam as posições que chamei de ideológicas. No
que diz respeito à segunda analogia, um conflito de interesses
nem sempre é passível de ser resolvido por meio do consenso
sobre normas. O caso mencionado do conflito entre trabalha-
dores e empresários surge de duas visões da situação comple-
tamente diferentes (de acordo com uma, o modo de produção
capitalista implica sempre uma exploração do trabalhador, de
acordo com a outra, ele permite a fixação de uma justa recom-
pensa e pode, portanto, ser justo) que não permitem chegar
ao consenso apesar de uma eventual boa vontade das partes
por falta de uma comum definição do assunto sobre o qual
158 - Norma, moralidade e interpretação...
deveria ser alcançado o consenso. Conflitos político não são
conflitos acerca da “verdade” de uma decisão política, seja tal
verdade definida como for. O fato de as teorias do consenso
afirmarem que haveria uma mera analogia entre pretensões
de verdade e pretensões de justeza de normas não elimina o
fato de que elas tratem estas últimas como se fossem iguais às
primeiras. O chamado consenso resulta muitas vezes de um
acordo em que as partes renunciam à sua posição original de-
pois de uma barganha – em outras palavras: ele é o resultado
mais de uma atitude estratégica do que de uma comunicativa,
para usar as categorias habermasianas.
Quarta tese: O lugar da filosofia política não está fora do
contexto histórico de uma sociedade específica, mas no inte-
rior dela. Ela visa uma reconstrução crítica dos pressupostos
que regem a vida prática de tal sociedade. No seu célebre
ensaio sobre Filosofia e democracia de 1981, Michael Walzer afir-
mava, em polêmica com John Rawls, que o filósofo político
tende a assumir uma posição externa à sociedade para elabo-
rar conceitos e princípios abstratos que deveriam guiar a vida
de tal sociedade. Esta visão, que ele chama do filósofo heróico,
leva ao ativismo judiciário e à judicialização da política, já que
os juízes intervêm massiçamente na atividade legisladora sem
interessar-se pela vontade popular expressa no parlamento,
mas com base em princípios morais abstratos (como, a seu
ver, na teoria de Dworkin). Não é que Walzer negue valor às
teorias do tipo rawlsiano; a questão é que elas representam,
no contexto do debate democrático, uma possível posição ao
lado de outras, igualmente plausíveis. Em suma, segundo
Walzer, ao entrar concretamente no debate público, o filóso-
fo se torna um cidadão comum que avança uma proposta de
resolução de problemas públicos – proposta que os concida-
dãos podem aceitar ou recusar sem que, por isso, tal decisão
implique algo sobre a “verdade” da teoria em questão. Em
outras palavras: a argumentação rawlsiana em prol dos dois
Norma, moralidade e interpretação... - 159
princípios de justiça manteria sua validade teórica também se
recusada numa votação democrática pelos membros de uma
sociedade em prol de uma teoria alternativa21. Mais uma vez:
decisões políticas, inclusive decisões democráticas, não têm
nada a ver com a verdade de teorias ou de princípios morais,
ainda que às vezes possam ser guiadas por estes últimos. O
fato de o teórico julgar “falsa” ou “errada” (isto é: contrária a
princípios “verdadeiros” ou “universalmente válidos”) a de-
cisão democraticamente tomada pelos concidadãos não tor-
na esta menos legítima, segundo Walzer. Naturalmente, isto
vale a partir do pressuposto de que o fato de uma decisão
ter sido tomada por meio de um procedimento democrático
é decisivo com respeito à legitimidade da mesma. Na ótica
de Walzer, uma decisão democrática, ainda que teoricamente
discutível ou “errada” é sempre melhor que uma decisão que
a teoria filosófica considera normativa e moralmente “certa”,
mas que seja imposta à maioria de maneira não democrática
(por exemplo, por juízes “ativistas”).
Segundo Habermas, não é necessário que a questão se po-
nha nestes termos: uma decisão verdadeiramente democrática
deveria levar em conta determinados princípios – porém estes
últimos não são definidos pelos filósofos heróicos de Walzer,
mas reconstruídos por uma teoria da sociedade como a do
próprio Habermas. Tarefas de tal teoria são a identificação e
explicitação dos valores e dos princípios que estão implícitos
nas instituições da sociedade contemporânea, por ex., no mo-
derno direito positivo ou na moral universal que caracteriza
as sociedades pós-convencionais22. Axel Honneth, que defen-
de uma posição análoga, afirma que esta teria sido também a
intenção originária de Hegel na sua Filosofia do direito. O que
Honneth propõe, seguindo Hegel, é construir uma teoria da
justiça a partir dos pressupostos estruturais das sociedades
14 WALZER, Michael. Philosophy and Democracy. In: Political Theory, Vol.
9, 1981, 379-399 (agora também em: WALZER, Michael. Thinking Politically. Essays in
Political Theory. New Haven: Yale University Press, 2007, 1-210.
15 HABERMAS, Jurgen. Op. cit. [nota 7].
160 - Norma, moralidade e interpretação...
contemporâneas, sem por isso cair numa mera justificação
do existente23. Contudo, esta posição não modifica o risco
da mencionada judicialização da política: os juízes ativistas
podem argumentar que suas decisões visam à realização dos
princípios implícitos nas estruturas básicas da sociedade e
não à realização de princípios filosóficos abstratos. Neste sen-
tido, é bem possível que – para voltar a dois exemplos men-
cionados acima – eles atribuam aos gays os direitos civis que
a maioria lhes nega e que, ao mesmo tempo, proíbam a ex-
pressão pública de idéias racistas ou discriminatórias: as duas
decisões, que parecem contraditórias do ponto de vista liberal
ou libertário, já que se trata de garantir direitos individuais,
são conciliáveis uma vez que expressam dois diferentes prin-
cípios ou valores implícitos nas instituições de nossas socie-
dades, a saber, o princípio da igualdade dos cidadãos perante
a lei e o valor do antirracismo e da luta contra os preconceitos
raciais, de gênero, etc. Contudo, isto não elimina o conflito en-
tre tais decisões e o procedimento democrático propriamente
dito. Ora, estamos aqui perante uma escolha para a qual não
podem ser oferecidos argumentos definitivos. A escolha é en-
tre privilegiar o caráter democrático do processo de tomada
de decisões públicas ou, antes, a correspondência destas à no-
ção de justiça implícita de uma sociedade. Trata-se de uma
reformulação de um conflito antigo que aparece sob várias
formas: como conflito entre democracia e constituição, entre
legislativo e judiciário, entre democracia e filosofia heróica
(como diria Walzer), entre vontade popular e direitos huma-
nos etc. Na sua nova veste, o conflito é menos radical, mas
não deixa por isso de existir. Não estou lamentado isto, antes:
a política é conflito e, portanto, eminentemente político é tam-
bém o conflito entre as duas mencionadas visões do ativismo
judiciário (a saber, como violação do caráter democrático do
16 HONNETH, Axel. Gerechtigkeitstheorie als Gesellschaftsanalyse. Uber-
legungen im Anschluss an Hegel. In: MENKE, Christoph e REBENTISCH, Juliane
(Hrsg.). Axel Honneth: Gerechtigkeit und Gesellschaft. Potsdamer Seminar. Berlin: BWV,
2008, p. 15.
Norma, moralidade e interpretação... - 161
processo decisório ou como explicitação dos princípios im-
plícitos em tal processo). Mais uma vez nos deparamos com
duas interpretações de um fenômeno que possuem ambas sua
plausibilidade. Não há nada de problemático nisto: proble-
mática é, antes, a pretensão de encontrar sempre uma solu-
ção definitiva a este tipo de conflitos. O prevalecer de uma
ou da outra interpretação (e, portanto, a aceitação empírica
ou do ativismo judiciário ou da primazia do legislativo) não
são questões que possam ser resolvidas pela teoria, mas que
só encontram uma resposta na história concreta de uma so-
ciedade. A teoria pode reconstruir as ideias que estão atrás de
cada posição e, eventualmente, criticá-las; mas não há como
decidir de antemão qual entre elas é legítima e qual não é, já
que ambas possuem certa legitimidade. Contudo, o erro seria
achar que a tarefa da teoria consiste somente em ocupar-se da
tensão entre escolha democrática e direitos individuais ou da
questão da judicialização da política e do ativismo judiciário.
Chego assim à minha quinta e última tese.
Quinta tese: A filosofia política deve ocupar-se da re-
alidade social e econômica de maneira mais acentuada do
que nas últimas décadas, renunciando a um normativismo
puro e colocando-se numa perspectiva interdisciplinar. No
início desta fala, ao discorrer sobre o prevalecer de teorias
identitárias, mencionei a filosofia acadêmica mainstream das
universidades norte-americanas e européias. Em geral, pode-
se dizer que o tipo de filosofia política que prevalece nela é
uma filosofia fortemente normativa e analítica, que não pa-
rece preocupar-se muito em refletir sobre seu próprio estatu-
to teórico e em pensar as concretas condições empíricas nas
quais ela deveria ser aplicada. A idéia é que, partindo de uma
definição abstrata e geral de sociedade humana (por ex. como
sistema cooperativo equitativo de indivíduos que se consi-
deram reciprocamente livres e iguais ou como comunidade
cultural definida por elementos como o idioma, a religião,
162 - Norma, moralidade e interpretação...
etc.), é possível formular princípios normativos objetivos (por
ex. os dois princípios da teoria rawlsiana ou o princípio do
respeito da identidade cultural das teorias multiculturalis-
tas). A teoria reivindica, portanto, sua autonomia do contexto
sócio-histórico concreto no qual ela é formulada. É uma teoria
tradicional no sentido de Horkheimer, que não se interessa
muito pela própria aceitabilidade ou aplicabilidade concre-
ta, mas se preocupa, antes, em operar deduções formalmente
corretas24. Já uma teoria preocupada com a reconstrução de
princípios implícitos na prática social, como no caso de Ha-
bermas e Honneth, parece aproximar-se mais à idéia de teoria
crítica de Horkheimer. Contudo, ela corre o risco de perder
seu caráter crítico ao limitar-se a explicitar tais princípios sem
tomar posição perante eles. Para voltar ao exemplo de Hon-
neth e do seu conceito de Leistung ou contribuição, ao afirmar
que na esfera da economia os trabalhadores deveriam ver sua
contribuição reconhecida, conforme prometido pelo próprio
mercado, o pensador alemão parece operar uma crítica inter-
na a este último (o mercado não está cumprindo suas promes-
sas), mas acaba por reconhecer legitimidade a tais promessas
de justiça, sem ocupar-se da possibilidade de que o mercado
nunca seja justo. A esta observação poderia ser replicado que
ela pressupõe, por sua vez, um conceito de justo e de injusto
– aplicado neste caso ao mercado. Na realidade, estou limitan-
do-me a dizer – como Honneth – que ele é injusto precisamen-
te com base na própria definição de justiça por ele proposta
(cada um receberia nele a justa recompensa pelo seu trabalho
e encontraria as mercadorias das quais necessita a um preço
acessível) e que – e isto é o que Honneth não diz – ele nunca
poderá cumprir suas promessas, porque ao fazer isso ele so-
laparia suas próprias bases (o modo de produção capitalista).
O mesmo vale para a teoria habermasiana do direito, que se
desinteressa quase completamente pelas bases econômicas e
24 HORKHEIMER, Max. Traditionelle und kritische Theorie. In: Zeitschrift fur Sozial-
forschung, VI, 2, 1937 (agora in: HORKHEIMER, Max. Traditionelle und kritische Theorie.
Funf Aufsätze. Frankfurt a. M.: Fischer, 2005, 205-259).
Norma, moralidade e interpretação... - 163
materiais da sociedade, a ponto de não ocupar-se dos direitos
sociais que, na gênese dos direitos exposta no terceiro capítu-
lo de Direito e Democracia, fazem somente uma breve aparição
ao serem mencionados como o quinto grupo de direitos fun-
damentais que deveriam ser garantidos aos cidadãos. Pode
uma teoria crítica que mereça este nome desconsiderar tais
aspectos? Como podemos pensar a função de barreira contra
a colonização do mundo da vida que Habermas atribui ao di-
reito sem analisar as relações concretas que o ligam à econo-
mia, que de tal colonização é o sujeito principal?
A recente crise mundial foi acompanhada pelo silêncio
quase absoluto dos filósofos, com a exceção de marxistas ou
esquerdistas como Žižek ou Badiou. Julgo isto bastante pre-
ocupante. Significa que nós filósofos não temos nada a dizer
sobre este fenômeno? E por quê? Por que não somos capazes
de entendê-lo: por ignorância das teorias econômicas e por
falta de compreensão dos dados necessários a uma leitura da
crise? Ou porque achamos que nossas teorias não devem pre-
ocupar-se com os fatos e limitar-se a serem elegantes e bem
argumentadas? Seja qual for a resposta, ela é insatisfatória.
Como podemos pensar a política sem entender as bases ma-
teriais dos problemas políticos (inclusive daqueles ligados à
definição das identidades e ao reconhecimento, que são sem-
pre também questões de redistribuição, como demonstrado
convincentemente por Nancy Fraser25)? Como elaborar uma
teoria da justiça social sem considerar as formas tomadas hoje
em dia pelo modo de produção capitalista? A maioria das te-
orias da justiça mainstream parte da existência de tal modo de
produção como um fato natural, que não precisa, portanto,
ser justificado (como ainda achavam seus primeiros apolo-
gistas como Adam Smith). Nenhuma entre elas analisa a im-
portância do dinheiro, considerado por todas elas um mero
instrumento neutro para a troca de mercadorias de natureza
diferente (e não é necessário recorrer a Marx para desmen-
18 FRASER, Nancy. Op. cit. [nota 16].
164 - Norma, moralidade e interpretação...
tir esta visão; pode-se recorrer a um pensador burguês como
Simmel26). Nenhuma delas se ocupa da questão do poder e
de sua natureza, muito menos da relação entre poder econô-
mico e poder político ou do impacto que tal relação tem sobre
nossas vidas (mais uma vez: poder-se-ia recorrer a um pen-
sador burguês como Weber). As teorias da democracia deli-
berativa, para mencionar outra família de teorias mainstream,
só se preocupam com a gestão e o controle do poder político,
não com o do poder econômico, que fica livre para dominar
nossas vidas sem se submeter a nenhum tipo de legitimação
ou de controle democrático. Felizmente, existem pensadores
que se ocupam de questões como estas (e não de um ponto de
vista puramente normativo). Penso, por exemplo, em Luc Bol-
tanski ou Alain Caillé27, mas interessantemente eles não são
muito considerados pela academia mainstream – e de fato nem
sempre os pensadores que se ocupam de tais questões são fi-
lósofos (penso em sociólogos como Bordieu ou em economis-
tas como Sen que, contudo, são capazes de usar seus estudos
empíricos para construir teorias extremamente interessantes,
mas pouco consideradas pelos filósofos28).
Resumindo: A filosofia política atual parece desinteres-
sar-se muito daquela que deveria ser sua questão central: a
questão do poder e de sua natureza. Ao mesmo tempo, ela se
desinteressa do contexto socioeconômico mundial e das aná-
lises que dele oferecem as ciências sociais. Em lugar disso, ela
prefere ocupar-se de questões de identidade e de reconheci-
mento, sem questionar radicalmente a realidade, mas limitan-
do-se à pretensão de corrigir as imperfeições dela, e abrindo
19 SIMMEL, Georg. Philosophie des Geldes. Leipzig: Duncker & Humblot,
1900.
20 De Bourdieu e Sen veja-se em particular: BOURDIEU, Pierre (sous la direc-
tion de). La misère du monde. Paris: Seuil, 1993; SEN, Amartya. The Standard of Living.
Cambridge: Cambridge University Press, 1987 e SEN, Amartya. Desigualdade reexami-
nada. Rio de Janeiro: Record, 2001.
21 Não estou, com isso, defendendo a ideia de uma filosofia militante: o filó-
sofo que se dedica à militância política ou partidária está agindo como cidadão e não
como pensador.
Norma, moralidade e interpretação... - 165
o espaço para a judicialização da política. É tempo de mudar
este estado de coisas e de voltar a um diálogo mais estrito
com as ciências sociais empíricas: a economia, a sociologia,
a psicologia, a antropologia. E é tempo também de assumir
francamente a posição inevitavelmente política da teoria, dei-
xando de lado a ficção de sua presumida neutralidade, mas
sem, por isso, abandonar a própria capacidade crítica e au-
tocrítica29. Defender a mencionada neutralidade significa, na
realidade, assumir uma posição ideológica e conservadora do
status quo, segundo a qual qualquer teoria que tomasse uma
posição de crítica radical à realidade seria parcial, “ideológi-
ca” no sentido corriqueiro e, portanto, não mereceria o nome
de teoria. Mas, como o próprio Habermas nos mostrou (nos
escritos daquele que permanece o período mais interessante
da sua produção, a saber: os anos entre a década de sessenta
e a década de setenta30), a teoria nunca é politicamente neu-
tra. Uma das tantas trivialidades “esquecidas” para as quais
apontei neste ensaio.
22 Paradigmático desta posição: HABERMAS, Jurgen. Conhecimento e interes-
se. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1982 (original alemão de 1968).
23 Esse argumento é também desenvolvido por Cassin, B. L’effet sophistique,
Gallimard, 1995.
166 - Norma, moralidade e interpretação...
As novas sofísticas jurídicas: Chaïm
Perelman e Stanley Fish
Wladimir Barreto Lisboa
UNISINOS-CNPq
Introdução
Esse trabalho procurará apresentar, primeiramente, as
teorias acerca da retórica em Aristóteles e Perelman como
dois empreendimentos distintos e antagônicos. O propósito
aqui consiste em mostrar de que modo a Nova Retórica de
Perelman aproxima-se das teses sofistas desenvolvidas por
Platão, no diálogo Fedro1. Em um segundo momento, será
exibida a teoria de Stanley Fish que, em seu debate com Ro-
nald Dworkin, afirma ser o estabelecimento do sentido de um
texto, e do texto jurídico em particular, tarefa de uma comu-
nidade interpretativa que, sempre por convenção, impõe-lhe
uma interpretação através da força persuasiva. O objetivo será
então evidenciar que ambos os autores, Perelman e Fish, por
razões distintas, encontram-se filiados ao projeto filosófico
da sofística. Tal filiação trará importantes consequências para
uma teoria da justiça fundada ora em um auditório universal
ora na persuasão que impõe sentido.
A Nova Retórica de Chaïm Perelman
O debate acerca do papel desempenhado pela retórica e
pela tópica na argumentação jurídica foi relançado há aproxi-
madamente cinquenta anos por Chaïm Perelman (1912-1984)
24 Cf. Viehweg , T. Tópica y filosofia del derecho. Barcelona: Gedisa, 1997, p. 163.
Norma, moralidade e interpretação... - 167
e Theodor Viehweg (1907-1988). Na medida em que para
Viehweg sua teoria acerca da tópica insere-se dentro do âmbi-
to da retórica2, tomaremos aqui o caso particular da teoria de
Perelman como alvo central de nossa crítica e análise.
Tendo-se dedicado à questão dos raciocínios no domínio
dos juízos de valor, Perelman verificou neles a possibilidade
da existência de uma lógica expressa nas técnicas argumen-
tativas e persuasivas já presentes em Aristóteles, na Retórica
e nas Refutações Sofísticas. No que segue, analisaremos alguns
aspectos da recuperação da retórica por Perelman, especial-
mente no que diz respeito a sua suposta compatibilidade e
filiação à Retórica aristotélica. Quanto a tal ascendência, o ju-
rista belga é explícito:
Tendo empreendido essa análise da argumentação em
um certo número de obras, especialmente filosóficas, e
em alguns discursos de nossos contemporâneos, aperce-
bemo-nos, durante o trabalho, que os procedimentos que
encontrávamos eram, em grande parte, os da Retórica de
Aristóteles. Em todo caso, suas preocupações aproxima-
vam-se estranhamente das nossas3.
Perelman tem, portanto, o projeto de constituição de uma
“nova retórica”, continuação e ampliação da retórica de Aris-
tóteles, entendida como a lógica da argumentação, por opo-
sição à lógica formal, que se constitui, segundo ele, em uma
lógica da demonstração. Ela terá por objeto “as técnicas dis-
cursivas permitindo provocar ou aumentar a adesão dos espí-
ritos às teses que se lhes apresentam ao assentimento.”4
O objeto de estudo da nova retórica seria idêntico ao da dia-
lética aristotélica, ainda que Perelman evite esse vocabulário
pela excessiva homonímia do termo e pelo fato de a dialética
não ser tratada por Aristóteles na perspectiva da adesão dos
espíritos. A retórica de Perelman, ao contrário, “diz respeito
25 Perelman, C. Rhétoriques, Logique et Rhétorique. Bruxelles: Editions de l’Uni-
versité de Bruxelles, 1989, p. 71.
26 Perelman, C.; Tyteca, O. La nouvelle rhétorique. Traité de l’argumentation. Pa-
ris: Presses Universitaires de France, 1958, p.5.
27 Perelman, C. Lógica Jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 143.
168 - Norma, moralidade e interpretação...
mais à adesão do que à verdade”5, procurando atingir a per-
suasão por meio do discurso. Segundo Perelman, ainda que
ninguém negue que o poder de deliberar e de argumentar seja
um sinal distintivo do ser racional, os lógicos e teóricos do co-
nhecimento desprezaram os raciocínios utilizados dentro do
processo de argumentação. Diz ele:
Esse fato deveu-se ao que há de não-coercitivo nos argu-
mentos que vêm em apoio a uma tese. A própria nature-
za da deliberação e da argumentação opõe-se à necessi-
dade e à evidência, pois não se delibera quando a solução
é necessária e não se argumenta contra a evidência. O
campo da argumentação é o do verossímil, do plausível,
do provável, na medida em que esse último escapa às
certezas do cálculo6.
Para Perelman, valorizaram-se as demonstrações que são
necessárias, esquecendo-se dos raciocínios dialéticos que se
desenvolvem na argumentação e que são apenas verossímeis.
Seria preciso, portanto, centrar novamente o estudo da prova
no domínio do provável. Os argumentos não tratarão mais de
fundar verdades evidentes, mas de mostrar o caráter razoá-
vel, plausível, de uma determinada decisão ou opinião.
Para desenvolver sua teoria, Perelman explicita um de
seus conceitos fundamentais, a saber, o de auditório univer-
sal, definido como o “conjunto daqueles que são considera-
dos homens razoáveis e competentes no assunto.”7 Ele é
considerado como a norma da argumentação objetiva: “O
auditório universal é constituído por cada um a partir do
que sabe de seus semelhantes, de modo a transcender as
poucas oposições que tem consciência. Assim, cada cultu-
ra, cada indivíduo tem sua própria concepção do auditório
universal.”8 O acordo obtido não será, para Perelman, uma
1 Perelman, C.; Tyteca, O. La nouvelle rhétorique. Traité de l’argumentation. Op.
cit., p. 1.
2 Perelman, C. Lógica Jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 166.
3 Perelman, C.; Tyteca, O. La nouvelle rhétorique. Traité de l’argumentation. Op.
cit., p. 37.
4 Ibid., p. 113.
Norma, moralidade e interpretação... - 169
questão de fato, mas de direito. Isso é, acredita-se que todo
ser racional deveria aderir aos argumentos, ainda que não o
faça. Toda argumentação visaria aumentar a adesão do audi-
tório. A persuasão seria a ação de argumentar que pretende
obter a adesão de um auditório particular. Convencer, entre-
tanto, é a ação de argumentar que pretende obter a adesão
do auditório universal. Para tanto, exige-se do orador a qua-
lidade da imparcialidade: “Ser imparcial não é ser objetivo,
é formar parte do mesmo grupo que aqueles aos quais se
julga, sem ter tomado partido por nenhum deles.”9 O orador
deve se comportar como se fosse um juiz cuja ratio deciden-
di devesse proporcionar um princípio válido para todos os
homens. Uma boa argumentação deve, segundo Perelman,
tomar pontos de partida comuns ao orador e ao auditório,
relativos ao real (fatos, verdades ou presunções) ou ao pre-
ferível (valores, hierarquias e lugares). Para hierarquizar os
valores, recorre-se aos topoi, tornando assim, a tópica um
ramo da retórica.
Também em uma perspectiva retórica, a lógica jurídica,
segundo Perelman, pretende apresentar-se não como lógica
formal, mas como uma argumentação que busca alcançar
uma decisão não somente em conformidade com a lei, mas ser
equitativa, razoável e aceitável. Para tanto, deve tomar como
ponto de partida os lugares-comuns/princípios gerais do di-
reito:
Uma noção característica de todas as teorias da argumen-
tação, já analisada por Aristóteles, é a do lugar-comum. O
lugar-comum é, antes de tudo, um ponto de vista, um
valor que é preciso levar em conta em qualquer discus-
são e cuja elaboração apropriada redundará numa regra,
numa máxima, que o orador utilizará em seu esforço de
persuasão.
O lugar-comum cumpre o papel que o axioma possui em
um sistema formal, ou seja, servir de ponto de partida para
5 Perelman, C. Lógica Jurídica. Op. cit., p. 159.
170 - Norma, moralidade e interpretação...
um raciocínio. O direito positivo, por sua vez, sem ser a ex-
pressão de uma razão abstrata, deve ser razoável, expres-
sando uma síntese entre segurança jurídica e equidade, bem
comum e eficácia na realização dos fins. Caberá ao juiz, fi-
nalmente, mais que ao legislador, realizar tal síntese, aceita
porque razoável10.
Feita essa sumária exposição do projeto de Perelman de
construir, no domínio do razoável, uma teoria capaz de ob-
ter a adesão dos espíritos acerca dos princípios primeiros que
versam sobre o ser, o conhecimento e a ação (teoria por ele
denominada de filosofia regressiva)11, passemos agora à análise
de sua compatibilidade com a teoria retórica de Aristóteles.
Caracterização do Sofista
Para compreendermos as razões que nos fazem atribuir
a Perlman o título de sofista, devemos, previamente, deter-
minar com mais clareza a crítica aristotélica àqueles que se
movem exclusivamente no domínio da eficácia do lógos, isso
é, os sofistas.
Para Aristóteles, a sofística apresenta-se como filoso-
fia, mas ela é uma aparência de filosofia porque se move
no mesmo gênero de realidade. Ela indaga, como o filóso-
fo, acerca do justo, do belo, do verdadeiro, etc. Todavia, o
sofista privilegia a eficácia do lógos, isso é, sua função de
persuasão dos interlocutores através da linguagem, sendo-
lhe indiferente o domínio das coisas. É o que diz Sócrates a
Fedro:
Eles [Tisisas e Górgias] viram que o verossímil merecia
mais honras que o verdadeiro; pela força de suas pala-
vras eles deram às pequenas coisas a aparência de gran-
des, às grandes, a aparência de pequenas12.
6 Cf. Perelman, C. Ética e direito. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 463.
7 Perelman, C. Rhétoriques, Philosophies premières et philosophie regressive. Op.
cit., p. 157-158.
8 Platão, Fedro. 267b. Paris, Gallimard, 1985.
Norma, moralidade e interpretação... - 171
Falar, portanto, não consiste em falar de algo, o real, mas
para alguém (a persuasão). O projeto do sofista, como mostra
Platão em seu diálogo O Sofista, consiste em mostrar a im-
possibilidade de se dizer o que são as coisas mesmas, o que
elas são realmente. O sofista, diz Platão no referido diálogo,
é um “mercador de conhecimentos para a alma” (231c), um
“fabricante dos conhecimentos que ele próprio vende” (232a).
O conhecimento que ele apresenta é uma ilusão, pois não con-
siste senão em opiniões, aparências do ser que ele vende como
sendo o próprio ser. Para Aristóteles, entretanto, uma coisa é
produzir um acordo, através de um auditório, sobre a verda-
de, outra coisa é revelar, exibir a verdade. É necessário, segun-
do Aristóteles, diferenciar claramente argumentos que são ca-
pazes de produzir convicção e argumentos que produzem a
aceitação da verdade por meio de sua apresentação através de
um nexo necessário entre premissas e conclusão.
No entanto, é justamente a distinção entre o não-ser e o ser
que o sofista nega. Como seria possível, afirma ele, sustentar
que o discurso sofístico apresenta apenas um simulacro, uma
ilusão do ser, daquilo que efetivamente existe? Como podería-
mos, afirma o sofista, apresentar o não-ser, pois justamente do
não-ser nada pode ser dito? Eliminada assim a distinção entre
o verdadeiro e o falso, dado que o falso, o verdadeiramente
falso, não pode ser dito, extingue-se simultaneamente a pos-
sibilidade de distinguir o simulacro daquilo que ele simula, o
real.
Vê-se, assim, que a tarefa aristotélica de restituição da ca-
pacidade de distinguir o discurso aceitável do inaceitável, o
discurso verdadeiro do discurso falso, passa pela afirmação
da possibilidade de dizer o falso13. Ocorre que o acordo uni-
versal proposto por Perelman parece justamente trazer uma
instabilidade que se enraíza no cerne de sua teoria. Nas pala-
vras de Perelman:
9 Não cabe aqui a análise da resposta aristotélica ao lema parmenídico “o
ser é, o não ser não é”. A resposta de Aristóteles consitirá, dentre outras coisas, em
distinguir o ser em ato e o ser em potência.
172 - Norma, moralidade e interpretação...
[A filosofia regressiva] apenas admite um conhecimento
imperfeito e sempre perfectível, compraz-se, não em um
ideal de perfeição, mas em um ideal de progresso, enten-
dendo com isso não o fato de aproximar-se de alguma
perfeição utópica, mas o fato de solucionar as dificulda-
des que se apresentam com a ajuda de uma arbitragem
constante, efetuada por uma sociedade de espíritos li-
vres, em interação uns com os outros (...). Se ele [o ho-
mem livre] admite a existência de leis lógicas no interior
de um sistema dado, sua escolha de semelhante sistema
é guiada pelas regras bem mais flexíveis da retórica, isso
é, da lógica não coercitiva do preferível.14
Veremos, a seguir, de que modo a nova retórica de Perel-
man, ao criar um abismo intransponível entre o verdadeiro e
o verossímil dissolve o vínculo existente em Aristóteles entre
ética, retórica e política, ao mesmo tempo em que absolutiza
o provável para o inteiro âmbito da racionalidade, realizando
assim plenamente o projeto sofista.
A Nova Retórica como Nova Sofística
Como vimos, se não há possibilidade de distinguir-se o
ser do não ser, o simulacro do não simulacro, então a retórica
é o único domínio a partir do qual os seres humanos pode-
rão alcançar a concórdia. Justamente, em Perelman, a retórica
possui uma reivindicação totalizante em virtude da qual ela
ambiciona igualar-se à filosofia. Nele, a retórica absorve o in-
teiro domínio da racionalidade humana, aí incluídas a inter-
locução e as paixões, chegando mesmo a substituir à raciona-
lidade o razoável. Sob seu magistério encontra-se a filosofia
inteira, em especial os primeiros princípios apenas demons-
tráveis dialeticamente. É o que afirma Perelman:
Apenas a retórica, e não a lógica, permite compreender
a aplicação do princípio de responsabilidade. Na lógica
formal, uma demonstração é probatória ou não o é, e a
10 Perelman, C. Rhétoriques, Philosophies premières et philosophie regressive. Op.
cit., p. 174-175.
Norma, moralidade e interpretação... - 173
liberdade do pensador está fora de questão. Ao contrá-
rio os argumentos dos quais nos servimos em retórica
influenciam o pensamento, mas não necessitam jamais
sua adesão. O pensador compromete-se ao decidir. Sua
competência, sua sinceridade, sua integralidade, em uma
palavra, sua responsabilidade, estão fora de questão.
Quando se trata de problemas referentes aos fundamen-
tos (e todos os problemas filosóficos estão a eles ligados),
o pesquisador é como um juiz que deve julgar segundo
a equidade. Poderíamos perguntar, ademais, se após ha-
ver durante séculos procurado o modelo do pensamento
filosófico nas matemáticas e nas ciências exatas, não es-
taríamos melhor inspirados comparando-o com o dos ju-
ristas que devem tanto elaborar um novo direito quanto
aplicar o direito existente a situações concretas.15
Quanto ao âmbito universal dessa retórica, Perelman é
igualmente explícito:
A nova retórica, por considerar que a argumentação
pode dirigir-se a auditórios diversos, não se limitará,
como a retórica clássica, ao exame das técnicas do dis-
curso público, dirigido a uma multidão não especiali-
zada, mas se interessará igualmente pelo diálogo socrá-
tico, pela dialética, tal como foi concebida por Platão e
Aristóteles, pela arte de defender uma tese e de atacar
a do adversário, numa controvérsia. Englobará, portan-
to, todo o campo da argumentação, complementar da
demonstração, da prova pela inferência estudada pela
lógica formal.16
Se para o Platão do Fedro, a boa retórica, transformada em
dialética, e a filosofia correta (a dialética), são equivalentes,
isso é, se o verdadeiro retórico é um filósofo, para Perelman,
ao contrário, o verdadeiro filósofo é um retórico. Com Górgias,
Perelman afirma: “tudo é retórico”:
Se a filosofia permite clarificar e precisar as noções de
base da retórica e da dialética, a perspectiva retórica per-
11 Perelman, C. Rhétoriques, Philosophies premières et philosophie regressive. Op.
cit., p. 168.
12 Perelman, C. Lógica Jurídica. Op. cit., p. 144.
174 - Norma, moralidade e interpretação...
mite melhor compreender o empreendimento filosófico
ele próprio, definindo-o em função de uma racionalida-
de que ultrapassa a idéia de verdade, o apelo à razão sen-
do compreendido como um discurso endereçado a um
auditório universal.17
A introdução, aqui, da idéia de um auditório universal
apenas reforça a idéia de que, tendo a retórica por função a
ação eficaz sobre os espíritos, será a qualidade desses espí-
ritos que distinguirá uma retórica desprezível de uma retó-
rica digna de elogios isso é, uma retórica cujos argumentos
convençam os próprios deuses18. Eis, a seguir, a passagem de
Fedro parafraseada por Perelman na referência aos deuses:
Sócrates: Se, pois, tu tens algo mais a dizer sobre a arte ora-
tória, estamos dispostos a escutá-lo; senão, confiaremos
nos princípios que acabamos de expor: se não avaliamos
os caráteres dos que escutarão, se não somos capazes de
distinguir as coisas segundo sua espécie e de reuni-las em
uma única forma para cada espécie, jamais possuiremos o
domínio da arte oratória, na medida em que um homem
pode alcançá-la. Mas não poderemos adquirir esse resul-
tado sem um imenso esforço. E não é para falar e tratar
com os homens que o sábio terá todo esse esforço, mas
para tornar-se capaz de uma língua que agrade aos deuses,
e de uma conduta que em tudo lhes agrade na medida em
que dele depende. Pois, Tísias, o homem de discernimento
não deve, senão de modo acessório, – e são aqueles que
são mais sábios que no-lo afirmam – exercitar-se a propor-
cionar prazer a seus companheiros de escravidão, mas aos
mestres que são bons e de boa raça.19
Os sujeitos persuadidos, a qualidade do auditório persu-
adido, e não o objeto acerca do qual se exerce a persuasão
constituirá, então, o domínio da retórica. O histórico despre-
zo pela retórica justifica-se, segundo Perelman, por haver ela
dirigido-se a um auditório de ignorantes:
13 Perelman, C. Rhétoriques, Philosophies premières et philosophie regressive. Op.
cit., p. 168.
14 Cf. Perelman, C. Rhétoriques, De la preuve em philosophie. Op. cit., p. 318.
15 Platão. Fedro, op. cit., 273e. Itálico nosso.
Norma, moralidade e interpretação... - 175
A retórica teria, segundo Aristóteles, uma razão de ser,
seja por causa de nossa ignorância dos modos técnicos
de tratar um assunto, seja por causa da incapacidade dos
auditórios de seguir um raciocínio complicado.20
Mas o auditório universal de Perelman recuperaria a dig-
nidade perdida. Ele teria um valor por ser universal. Além
disso, o que asseguraria o sucesso argumentativo, à diferen-
ça da eficácia alcançada por um charlatão, seria o fato de o
orador endereçar-se ao auditório com um espírito honesto. Os
argumentos utilizados pelo orador seriam os de um espírito
reto. O auditório universal realiza, desse modo, o amálgama
entre retórica, filosofia e ética.
Para justificar a existência desse auditório universal, Pe-
relman evoca uma passagem da Retórica de Aristóteles em
que o Estagirita caracteriza a natureza do público com o qual
o orador está concernido. A retórica está concernida com um
tipo de auditório que não pode apanhar simultaneamente
uma série de considerações, nem concluir a partir de premis-
sas muito distantes. Eis a passagem de Aristóteles:
A atividade da retórica diz respeito a questões sobre as
quais somos levados a deliberar e para as quais não pos-
suímos uma arte; ela se dirige a ouvintes que não tem a
capacidade de alcançar uma visão de conjunto através
de numerosas etapas e de raciocinar desde um ponto de
vista distante. 21
No entanto, ao contrário do que supõe Perelman, não está
sendo dito aqui que o auditório é composto por ignorantes
que não dominam a arte da retórica, mas sim que, em virtude
de uma matéria que comporta pontos de vista antagônicos e
para a qual não há uma outra arte além da retórica, somos le-
vados, se buscamos a adesão a nosso ponto de vista, a abreviar
e exemplificar raciocínios. Portanto, é a contingência de uma
16 Perelman, C. Rhétoriques, Logique et Rhétorique. Op. cit., p.73.
17 Aristóteles, On Rhetoric. Newly translated, with introduction, notes, and
Appendices by George A . Kennedy. Oxford: Oxford University Press, 1991, 1357 a
1-4.
176 - Norma, moralidade e interpretação...
deliberação pública que exige uma arte capaz de fazer ver, de
um ponto de vista prático, a melhor decisão a ser tomada. Ao
contrário, no domínio do necessário, por exemplo, pode-se,
através de silogismos demonstrativos, exibir a prova daquilo
que se quer demonstrar através de silogismos, a extensão ou
complexidade do argumento não estando aqui em questão.
Não se trata, portanto, no âmbito retórico, de uma audiência
despreparada, vulgar, congenitamente incapaz de acompa-
nhar a complexidade da discussão. Ocorre apenas que, para
Aristóteles, no âmbito retórico, isso é, naquelas ocasiões em
que um público que deve decidir se algo ocorreu (retórica ju-
dicial) ou ocorrerá (retórica deliberativa), não se está apenas
concernido com a racionalidade do discurso, com o logos, mas
igualmente com o caráter (ethos) do orador e com as emoções
do público (pathos). Reduzir a persuasão22 apenas a argumen-
tos significa restringir a retórica à lógica.
O próprio Aristóteles lembra, no início do livro II da Re-
tórica, que os argumentos retóricos requerem ethos, pathos e
logos. O caráter, lembra Aristóteles, é uma das maiores cau-
sas de produção de confiança naqueles que devem julgar. Ao
mesmo tempo em que se afirma ser o entimema (o silogismo
abreviado) o centro da arte da retórica, mantém-se uma estrita
ligação entre tal atividade (encontrar os argumentos adequa-
dos à produção de credibilidade no orador) com a exigência
de que tal atividade seja ética e convincente.
Para os propósitos desse artigo, é suficiente dizer que tal
exigência ética vincula-se ao bem deliberar. Para o prudente,
bem deliberar envolve igualmente a virtude do caráter. Sua
18 A expressão grega pistis (pl. pisteis), significa o modo de produzir a con-
fiança, a crença (fides) naqueles para quem se dirige o discurso. Kennedy, em sua
tradução da Retórica de Aristóteles, afirma que pistis pode ser traduzida por prova,
meios de persuasão, crença, etc. Cf. Kennedy, G. A. On Rethoric. Op. cit., p. 30, n.9. A
tradução de pistis por prova pode induzir a erro (ao pensarmos exclusivamente na
prova segundo o logos), pois nela está incluída igualmente a persuasão pelo ethos e
pelo pathos. Quintiliano afirma que “a todas essas formas de argumento [logos, ethos,
pathos] os gregos deram o nome de pistis, um termo que, embora literalmente signi-
fique fides, ‘uma garantia de credibilidade’, é melhor traduzido por probatio, ‘prova’.
Quintiliano, De Institutio Oratoria. Londres: Loeb Classical Library, 2002, 5.10.8.
Norma, moralidade e interpretação... - 177
ausência implica não apenas, para o orador, falhar em produ-
zir a persuasão, mas também em encontrar os meios adequa-
dos de produzi-la. Como diz Aristóteles: “A inteligência, esse
olho da alma, não pode encontrar seu completo desenvolvi-
mento sem virtude. (...) É impossível sermos prudentes se não
somos bons.”23 Para encontrar argumentos práticos bons, o
orador necessita caráter, pois quando uma audiência está per-
suadida, ela atribui ethos ao orador por reconhecê-lo necessá-
rio à produção de tais argumentos.
Outro ponto de discórdia entre o filósofo de Estagira
e Perelman repousa no papel atribuído por ambos às boas
opiniões (endoxa)24 no domínio da retórica, em particular, e
no do estabelecimento dos primeiros princípios do conheci-
mento, em geral. Em Perelman, o apelo às endoxa parece ser
suficiente para contrapor, de um lado, a esfera do discurso,
da interpretação, da persuasão e do conhecimento prático,
considerados conjuntamente a partir de supostos princípios
comuns e, de outro, o domínio das ciências da natureza em
que a opinião não ocuparia um papel principal. Isso serve,
em Perelman, para destacar os defeitos e limites da racio-
nalidade científica e seu respectivo método. Mas isso não
encontra absolutamente qualquer eco no pensamento de
Aristóteles, para quem as endoxa constituem um ponto de
partida legitimamente adequado da investigação não ape-
nas no domínio retórico e prático, mas também nas ciências
demonstrativas25.
Para Aristóteles, ao contrário, do ponto de vista das en-
doxa, conhecimento científico e retórica comportam-se exata-
mente do mesmo modo, diferenciando-se sobretudo por ou-
19 Aristóteles, L’Ethique à Nicomaque, 1144 a 29-34. Trad. Gauthier e Jolif, Pa-
ris: Béatrice-Nauwelaerts, 1958.
20 Para uma breve discussão acerca do papel das endoxa em Aristóteles ver
Kraut, R. Como justificar proposições éticas: o método de Aritóteles. In Kraut, R.
(org.). Aristóteles. A Ética a Nicômaco. Porto Alegre: Artmed, 2009, p. 77-94.
21 Cf. Aristote, Physics, 206a12-14; 211a 7-11. Barnes, J. (ed.), Princeton: Princ-
eton University Press, 1984, v. I. ; De Caelo, 279b9-12, Barnes J. (ed.); Metaf. 993a31-b5
e L’Ethique à Nicomaque, 1098b 9-29.
178 - Norma, moralidade e interpretação...
tros critérios: o fim (conhecimento, no primeiro caso, a ação,
no segundo) e o objeto (o universal no primeiro, o particular,
no segundo).
Além disso, é preciso diferenciar o uso que é feito das endo-
xa no domínio da ética e da física, de um lado, e sua utilização
no âmbito retórico. Enquanto naquele, as endoxa constituem
o ponto de partida para uma interrogação, uma discussão e
aprofundamento teórico daquilo que estava dado no ponto de
partida, na Retórica, seu escopo serve ao desenvolvimento da
argumentação enquanto parte de uma estratégia de confronto
diante de duas possibilidades: vitória ou derrota (1355a23).
Ademais, ao contrário do domínio teórico, na Retórica não
constitui boa estratégia argumentativa aprofundar e criticar
as boas opiniões ou a opinião da maioria, pois isso colocaria
entraves dispensáveis à tarefa da produção da persuasão.
Vemos, assim, que uma das características da retomada
da retórica por Perelman consiste em ampliar seu domínio de
modo a envolver, sob um só título, dialética, ética, política,
etc. Desse modo, sob o título de Retórica, engloba-se um am-
plo espectro de teorias cuja assimilação a princípios comuns
está longe de ser evidente. Tal ampliação envolve o estabeleci-
mento de duas áreas excludentes de episteme: de um lado a es-
fera da ação humana (lato sensu) e, de outro, o âmbito da dita
racionalidade científica ou discurso demonstrativo em geral.
Além disso, parece haver uma domesticação da retóri-
ca, destinada agora a promover a concórdia entre os homens
diante de um tribunal beato onde as paixões de ódio, vangló-
ria, inveja, medo, amor, etc, não estão mais no horizonte de
preocupações com as quais deve se preocupar o orador. Ao
contrário, a retórica deixa de encarnar o elemento intrínseco
de combate (agonia) e competição necessariamente presentes
no exercício da arte26. Tanto é assim que a retórica era consi-
derada como uma arma potencialmente perigosa capaz de en-
sinar a arte da palavra na defesa do justo e do injusto, a tornar
22 cf. Platão. Gorgias, 456c7-457b7. Paris: Flammarion, 1987, e Aristóteles. On
Rhetoric. I, 1, 1355a38-b2
Norma, moralidade e interpretação... - 179
forte um discurso fraco. Em Perelman, a retórica transforma-
se em uma ética acerca do razoável e do justo.
A retórica estuda os métodos de persuadir acerca da opor-
tunidade de adoção de um ponto de vista que se encontra já no
ponto de partida da argumentação do orador (e.g., um muro
deve ser construído para defender Atenas). A prudência e de-
liberação do homem prudente, ao contrário, situam-se em um
ponto anterior, pois deve, caso a caso, encontrar os modos de
determinar o bem viver. O propósito da retórica consiste em
determinar os meios de persuasão, e não os meios para a ação.
Ela não é, portanto, um método a ser utilizado pelo prudente.
Mas é justamente essa aproximação entre retórica e deli-
beração prática que promove Perelman, citando Isócrates, já
nas primeiras páginas de seu Traité de L’argumentation:
“Os argumentos pelos quais convencemos os outros fa-
lando são os mesmos que utilizamos quando refletimos.
Chamamos oradores os que são capazes de falar peran-
te a multidão e consideramos de bom conselho aqueles
que, nos diversos assuntos, podem conversar consigo
mesmos da forma mais judiciosa.”27
Portanto, desse ponto de vista, não parece possível a apro-
ximação entre retórica e saber prático proposta por Perelman.
Ao contrário, o que Perelman propõe é uma aproximação con-
fusa de formas distintas de raciocínio. Para Aristóteles, entre-
tanto, a retórica é uma disciplina distinta cuja singularidade
não pode ser confundida com a totalidade da filosofia.
Novamente a sofistica: Stanley Fish e a
comunidade interpretativa
Em 1980, Stanley Fish, professor de literatura inglesa re-
nascentista (Universidade Berkeley, John Hopkins) e poste-
riormente professor de Direito (Duke, Chicago e Florida Inter-
national University), escreve um livro intitulado Is There a Text
23 Perelman, C. Traité de l’Argumentation. Op. cit., p. 54,
180 - Norma, moralidade e interpretação...
in this Class em que relata uma experiência acadêmica vivida
em 1971 que se tornara, digamos, o carro-chefe de seus exem-
plos evocados em sustentação de sua teoria interpretativa dos
textos em geral.
Ao invés de apagar a lista de nomes próprios que havia
escrito na lousa da sala de aula com a finalidade de indicar
aos seus alunos de linguística quais seriam os autores que
deveriam ser lidos para a próxima aula, Stanley Fish decide
fazer passar essa mesma lista aos estudantes de poemas reli-
giosos do século XVII que acabavam de entrar na mesma sala
de aula para a segunda seção do curso, como um poema re-
ligioso do mesmo período e que deveria ser interpretado pe-
los alunos que já haviam aprendido a identificar os símbolos
cristãos e a passar da observação desses símbolos e modelos
à especificação de uma intenção poética geralmente de ordem
didática ou da ordem do sermão. Os nomes encontravam-se
assim dispostos na lousa:
Jacobs-Rosenbaum
Levin
Thorne
Hayes
Ohman (?)
Tarefa começada, o primeiro aluno a tomar a palavra ob-
servou que o poema era com toda certeza um hieroglifo, ainda
que pairasse uma duvida se a forma correspondia a uma cruz
ou a um altar. Outro aluno concentrou-se sobre as palavras
tomadas isoladamente. No primeiro verso do poema, disse,
Jacobs faz uma referência à escada de Jacob, representação
alegórica tradicional da ascensão cristã ao céu. Nesse poema,
entretanto, disseram os estudantes, o modo de ascensão não é
uma escada, mas um arbusto, uma roseira ou Rosenbaum. Isso
revelava, sem dúvida, uma referência à Virgem Maria, fre-
quentemente caracterizada como uma “rosa sem espinhos”,
Norma, moralidade e interpretação... - 181
emblema da imaculada concepção. Podemos interromper a
análise feita pelos alunos para chegar à conclusão de Fish:
como alcançamos as marcas distintivas do discurso literário?
Como reconhecemos um poema? Poderíamos crer que o pro-
cesso de reconhecimento se estabelecesse pela identificação
de certas marcas características. Estaríamos diante de um poe-
ma porque ele portaria nele mesmo as notas comuns próprias
a um poema. Mas o que essa experiência nos revela é bem
outra coisa, afirma Fish. Não é a presença de qualidades poé-
ticas que impõem um certo tipo de atenção, mas, ao contrário,
é devido a prestarmos um certo tipo de atenção que somos
conduzidos à emergência de qualidades poéticas. Finalmente,
o titulo do livro de Fish Is There a Text in this Class? deve-se
a que, na aula posterior, uma aluna indaga ao novo profes-
sor: “Há um texto nessa aula?”, ao que o professor responde:
“sim, ele é The Norton Anthology of Litterature”. “Não” - retoma
a aluna - “eu quero dizer, nessa aula, acreditam-se nos poe-
mas e coisas assim ou apenas existimos nós mesmos?”
Reconhecemos facilmente, nas palavras de Stanley Fish, o
já ancestral projeto sofista de operar uma identificação entre o
verdadeiro e o convencional, entre as coisas e sua aparência.
Fish lança, portanto, um desafio que não é novo na história
da filosofia: devemos abandonar o projeto de justificar nossas
crenças a partir de critérios exteriores à própria crença. O dis-
curso cria a realidade. Quanto à interpretação dos textos, dos
quais o texto jurídico é um caso, deve-se abandonar a idéia
de que “o sentido está no texto” em favor da idéia segundo a
qual “o sentido está no leitor” ou, dito de modo mais preci-
so, o sentido e a verdade são atos criativos e discursivos. Tal
atitude seria, afirma Fish, democrática e anti-autoritária, um
apelo à humildade e ao autodesenvolvimento. Essa postura
tornaria o leitor livre, independente e responsável, um cida-
dão em uma comunidade interpretativa e não um prisioneiro
no estado totalitário de uma crítica sempre em busca da ob-
jetividade. Quando o discurso é, portanto, responsável pela
182 - Norma, moralidade e interpretação...
realidade, e não meramente seu reflexo, eis toda a diferença.
Querer fixar, com a ajuda da razão, coisas sujeitas à constante
variação, é o mesmo que procurar unir a sabedoria e a loucu-
ra.
Vemos esse mesmo ponto nas palavras de Nietzche, em
Acerca da Verdade e da Mentira em Sentido Extramoral: “O que
é a verdade? Um exército móbil de metáforas, metonímias,
antropomorfismos, em resumo: uma suma de relações huma-
nas que foram reforçadas poética e retoricamente, que foram
deslocadas e embelezadas e que, após um longo uso, pare-
cem, a um dado povo, sólidas, canônicas e vinculatórias [...].”
Derrida, por exemplo, sustenta que aqueles que buscam as-
cender ao sentido primário e literal de uma sentença sofrem
de falocentrismo28. A pretensão anti-fundamentalista, afirma
Fish, não consiste na ausência de fundamento, mas repousa
na idéia de que todo fundamento foi estabelecido pela per-
suasão, isso é, pelo desenvolvimento de uma tese e de uma
contra-tese baseadas em exemplos e provas culturais e con-
textuais29. O sentido de uma frase, prossegue Fish, não pode
ser função do sentido dos elementos que a compõem, isso é,
a significação não pode ser apreendida literalmente, se por
compreensão literal entende-se um sentido claro que pode ser
apreendido independentemente do contexto e do espírito do
locutor e do auditório, um sentido que existiria anteriormente
a sua interpretação e que, por essa razão, seria cogente.
A fim de ilustrar o ponto da discussão envolvido no em-
preendimento interpretativo, Fish nos relata uma argumenta-
ção desenvolvida por John Milton, em 1643, em favor de uma
diminuição das restrições ao divórcio. Devendo apoiar-se so-
bre as escrituras, os opositores de Milton invocam um trecho
de São Mateus onde é dito: “aquele que repudia sua mulher,
a não ser por infidelidade …, comete um adultério (19, 9). Em
sua Doctrine and Discipline of Divorce, Milton tenta algo impos-
sível: fazer ver que esse mesmo texto suporta uma interpreta-
24 Cf. Derrida, J. La dissémination. Paris, ed. Seuil, 1972, p. 64.
25 Cf. Fish, S. Respecter le sens commun, op. cit., p. 28.
Norma, moralidade e interpretação... - 183
ção segundo a qual um homem pode repudiar sua mulher por
qualquer razão. Quando Cristo, diz Milton, pronunciou essas
palavras, ele estava endereçando-se aos fariseus que dele bus-
cavam o estabelecimento de uma regra mais branda sobre a
questão. Respondendo a essa provocação, Cristo deu uma res-
posta ainda mais restritiva: “podemos pensar, afirma Milton,
que ele deu essa resposta restritiva em relação ao divórcio não
com o propósito de proibir toda possibilidade de um espírito
honesto engajado em um laço conjugal infeliz de romper essa
relação, mas sim para colocar um freio aos abusos desses prin-
cípios por parte desses rabinos orgulhosos e hipócritas”30.
Desse modo, uma vez que a rigidez apenas era destinada
aos fariseus, a interdição não estava dirigida aos demais, que
dela se encontravam liberados.
Assim, prossegue Fish, fica claro que o sentido (indepen-
dentemente da força persuasiva do argumento de Milton) ape-
nas aparece como evidente e literal em razão de uma interpre-
tação julgada convincente, e não devido às qualidades próprias
do discurso. Houvesse Milton persuadido, tal não teria ocorri-
do por haver ele deslocado as palavras de seu contexto normal
para dar-lhes uma significação especial, mas sim por ter reali-
zado um ato de vontade que substitui um outro ato de vontade.
Tal ato de vontade pode ser identificado, em Fish, ao
ato de força mediante o qual o ponto de vista que se impõe
é aquele que prevalece sobre as interpretações concorrentes.
Nesse sentido, a força faz o justo31. Enfim, na medida em que
o sentido literal não é mais um constrangimento à interpreta-
26 Cf. Fish, S. Respecter le sens commun. Rhétorique, interprétation et critique en
littérature et en droit. Belgique, ed. L.G.D.J., 1995, p. 8. A citação de John Milton refere-
se a “Doctrine and Discipline of Divorce”. In Patrick, J. M. et alii (eds), Milton’s prose.
New York, 1968, p. 165.
27 Idem, p. 9, 11. Essa aproximação entre força e justiça faz lembrar o diálogo
entre mélios e atenienses descrito por Tucídides a propósito da guerra do Pelopone-
so: “(…) deveis saber, tanto quanto nós [dizem os atenienses aos mélios que se recu-
savam a tomar partido na disputa em Atenas e Esparta], que o justo nas discussões
entre os homens só prevalece quando os interesses de ambos os lados são compatí-
veis, e que os fortes exercem o poder e os fracos se submetem”. Thucydide. La guerre
du Péloponèse. Belles Lettres, 1953, V, 89.
184 - Norma, moralidade e interpretação...
ção, conclui ele, vivemos em um mundo retórico.
Para finalizar essa exposição sumária, pode-se dizer que,
segundo Fish, nenhuma significação resulta de uma proprie-
dade de um texto estável e fixo, nem de um leitor livre e inde-
pendente. Esse, ao contrário, encontra-se sempre submetido a
uma comunidade interpretativa que impõe o modo segundo
o qual a leitura e o texto se produzem.
O debate Fish vs Dworkin: falando em objetividade
Podemos afirmar que os ataques desferidos por Stanley
Fish à teoria da interpretação como integridade de Dworkin
são bem consistentes e de difícil refutação nas bases em que a
discussão foi posta por ambos. Recordemos aqui alguns dos
pontos da discussão. O propósito dessa retrospectiva consiste
em mostrar a radicalização das posições sofísticas de Fish e o
embaraço de Dworkin em se ver pego nas redes da “comuni-
dade interpretativa”32.
Se, para Dworkin, a tarefa de compreender o que é o direi-
to é sempre uma questão de interpretação e, portanto, sempre
dependente de considerações avaliativas, então não pode ser o
caso que possamos, em algumas circunstâncias ao menos, apre-
ender o sentido de um texto legal independentemente de uma
interpretação particular. Mas se é assim, argumenta Fish, se não
há fatos acerca do sentido do texto independentemente de in-
terpretações particulares, isso é, se não há texto anteriormen-
te a sua interpretação, então nada constrange a interpretação
e nenhuma é melhor que as demais33. Portanto, se o sentido
é sempre dependente da interpretação (e Dworkin teria mui-
ta dificuldade em negar esse ponto), como é possível simulta-
neamente sustentar que a interpretação é, ao menos em parte,
28 Um sumário da história desse debate encontra-se em Andrei Marmor, in
Marmor, Andrei. Interpretation and legal theory. Revised second edition. Oxford, Hart
Publishing, 2005, p. 55-61.
29 Fish, Stanley. “Working on the chain gang: intetrpretation in the law and
in litterary criticism”, in W. J. T. (ed.) The politics of interpretation. Chicago: University
of Chicago Press, 1983, p. 271-86.
Norma, moralidade e interpretação... - 185
conceitualmente coagida por algo que lhe é exterior (os prece-
dentes ou os autores anteriores dos capítulos de um livro que
Dworkin denomina de “romance em cadeia”34)? O empreendi-
mento do romance em cadeia, diz Fish, pressupõe que a distin-
ção entre interpretar um texto e mudá-lo ou inventar um outro
texto faça algum sentido, o que simplesmente não é o caso. A
interpretação de um texto, ao contrário, é sempre determinada
por convicções que constituem a compreensão anterior (prior
understanding) que nada mais é do que uma convergência de
crenças que podem mudar de um momento para outro ou en-
tre comunidades. Para Fish, finalmente, não há uma distinção
consistente entre interpretar um texto e mudá-lo ou inventar
um novo. Toda leitura ou interpretação muda o texto. Portanto,
se não há fato textual independentemente de sua interpretação,
então não há sentido em falar da melhor interpretação. Uma
interpretação é persuasiva sempre no contexto de uma comu-
nidade interpretativa, mas isso constitui-se em um critério so-
ciológico e não epistemológico35.
Ora, é evidente que tudo isso desafia a teoria do direi-
to como integridade de Dworkin na medida em que, como
se disse, não há mais distinção entre modificar ou criar um
novo texto e interpretá-lo. Isso, entretanto, é inaceitável para
Dworkin. E ele exemplifica o ponto através das possíveis in-
terpretações de uma obra literária como, por exemplo, a de
Agatha Christie:
“Portanto, não decorre da hipótese estética que, como
um romance filosófico é esteticamente mais valioso que
uma história de mistério, um romance de Agatha Chris-
tie seja na verdade um tratado sobre o significado da
30 A idéia do romance em cadeia de Dworkin consiste em utilizar a inter-
pretação literária como um modelo de método para análise jurídica: um grupo de
romancistas é escolhido para escrever o capítulo de abertura de um romance que
posteriormente será enviado para que o grupo seguinte escreva o segundo capítulo,
consciente de que está acrescentando um capítulo a esse romance, e não começando
um outro romance, e assim sucessivamente. Há, entretanto, para Dworkin, uma di-
fernça entre “interpretar quando se cria e criar quando se interpreta”. Cf. Dworkin,
R. Uma questão de princípios. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 235 e seg.
31 Fish, Stanley. Working on the chain gang. Op. cit. p. 276.
186 - Norma, moralidade e interpretação...
morte. Essa interpretação falha não apenas porque um
livro de Agatha Christie, considerado como um tratado
sobre a morte, seja um tratado pobre, menos valioso que
um bom texto de mistério, mas porque a interpretação
faz do romance um desastre.”36
Para Fish, ao contrário, o exemplo dado por Dworkin é
justamente o caso exemplar do fracasso de sua teoria da inter-
pretação. E o argumento falha devido à suposição de que ha-
veria aqui (na suposição de que o romance de Agatha Chris-
tie seja um tratado sobre a morte) uma mudança do texto, tal
como ele é, ou seja, as frases do romance, seus personagens e o
estilo possuiriam traços característicos de modo que um leitor
que deles fizesse uma leitura diferente estaria, na verdade, fa-
zendo prevalecer sua vontade em detrimento da essência do
texto. E o mesmo argumento vale também para afirmação de
Dworkin segundo a qual os juízes estariam coagidos a manter
a integridade do texto jurídico devido às características evi-
dentes da história que eles devem continuar.
Segundo Fish, a identificação do gênero pela continuidade
dos casos não se constitui em algo que se descubra, mas em
alguma coisa que se estabelece. A distinção entre explicar um
texto e transformá-lo não se sustenta, do mesmo modo que as
falsas oposições entre encontrar e inventar, continuar e estabe-
lecer um novo caminho, interpretar e criar. “Explicar uma obra
– afirma Fish – é atribuir-lhe uma nova característica e, conse-
quentemente, modificá-la, contestando outras explicações que
constituem, também elas, mudanças”37. Não sem sarcasmo,
Stanly Fish cita sete autores que realizaram extensos estudos
dedicados a uma interpretação sociológica, antropológica e fi-
losófica de Agatha Christie. Porter, por exemplo, pensa que os
livros de Christie “desenvolvem-se na tradição de Poe, Collins
e Doyle”38. Portanto, conclui Fish, convicções partilhadas re-
32 Dworkin, R. Uma questão de princípios. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p.
224.
33 Fish, S. Respecter le sens commun. Rhétorique, interprétation et critique en litté-
rature et en droit. Belgique, ed. L.G.D.J., 1995, p. 46.
38 Cf. Fish, S. Respecter le sens commun. Rhétorique, interprétation et critique en
Norma, moralidade e interpretação... - 187
fletem apenas uma convergência de crenças que podem mu-
dar no tempo ou de uma comunidade para outra e nada mais.
Aquilo que Dworkin tenta fazer passar por conteúdo do direito
é meramente produto do poder de uma comunidade, suficien-
te para impor seu sentido preferido como direito.
Ainda Aristóteles
A escolha de Aristóteles para refutar Stanley Fish pode
parecer anacrônica. Entretanto, ela é plenamente justificada
na medida em que talvez ninguém como o Estagirita tenha lu-
tado com tanto empenho contra os argumentos sofísticos em
suas mais variadas formas39. Somos racionais, afirma Aristó-
teles, na medida em que apresentamos critérios pelos quais
podemos diferenciar o aceitável do inaceitável, o verdadeiro
do falso, o bem do mal. Eliminada a possibilidade dessas dis-
tinções, restam apenas convenções, acordos que não podem
jamais reivindicar corretude, mas apenas oportunidade. Em
lugar da razão, do lógos, a persuasão. É no enfrentamento des-
ses argumentos que Aristóteles afirma, por exemplo, na Ética
a Nicômaco: “Ora, há nas belas ações e nas ações justas, que são
objeto da política, tanta variedade e instabilidade que se pôde
ver, na sua existência, o fruto de uma pura convenção e não
da natureza das coisas”40. Ou seja, a contigência, a corrupti-
bilidade do mundo sublunar imposta pela matéria pareceria
implicar a impossibilidade de discriminar crenças aceitáveis
no domínio prático. Em uma outra passagem, na Política, por
ocasião de uma discussão com o sofista Lycophron, Aristóte-
les afirma:
“A virtude e o vício, eis, ao contrário, sobre o que aqueles
que se ocupam da boa legislação têm os olhos fixados.
littérature et en droit. Belgique, ed. L.G.D.J., 1995, p. 44, n. 13.
39 E os argumentos de Stanley Fish, na medida em se movem exclusivamente
no domínio da eficácia do lógos, isso é, na impossibilidade de dizer-se o que são as
coisas mesmas, são sofísticos.
40 Aristóteles. L’éthique a Nicomaque. Introduction, traduction e commentaire
de Gauthier et Jolif. Louvain: Publications Universitaires de Louvain, 1958, 1094 b14.
188 - Norma, moralidade e interpretação...
Por essa razão, é manifesto também que a cidade que
merece verdadeiramente esse nome, e não aquela que é
assim denominada por abuso de linguagem, deve se ocu-
par da virtude, pois de outro modo a comunidade [políti-
ca] tornar-se-ia uma aliança militar diferindo apenas pela
[unidade de] lugar das outras alianças militares que [se
fazem entre povos] distantes [uns dos outros]. Então a lei
é [pura] convenção, e como disse o sofista Lycrophron,
ela é uma garantia da justiça nas [relações] mútuas, mas
ela não é capaz de tornar os cidadãos bons e justos”41.
A política como convenção, eis um dos temas dos sofistas.
Para Aristóteles, entretanto, a tentativa sofística de dissolver a
possibilidade de dizer o falso e o verdadeiro, tanto no âmbito
especulativo como no prático é racionalmente inaceitável. Se
não há uma medida externa ao discurso a partir da qual pos-
samos estabelecer se aquilo que dele afirmamos ou negamos é
verdadeiro ou falso, então, por essa mesma razão, encontra-se
dissolvida toda possibilidade de discurso racional42. A pre-
tensão mesma de querer significar algo, de ter a intenção de
afirmar uma crença qualquer, querendo, por seu intermédio,
dizer algo de algo, isso é, que segundo nossa opinião um es-
tado de coisas qualquer tem determinadas propriedades (por
exemplo, a tese segundo a qual é verdadeira a afirmação que
atribui a Aristóteles a negação do vazio), essa pretensão, di-
zíamos, supõe uma relação, isso é, supõe a possibilidade de
um discurso enunciativo sobre o ser com o qual o discurso
se mede. Para Aristoteles, todo discurso racional supõe uma
distinção entre o que é dito e isso acerca do que se diz. Toda fi-
losofia que negue a possibilidade de dizer como as coisas são
é contraditória, pois nega a possibilidade de confrontar isso
41 Aristote. Politiques. Trad. Pierre Pellegrin, Paris: Flamarion, 1993, 1280 a5-
12. Os colchetes são do tradutor. No início da citação, quando Aristóteles fala das
virtudes e vícios, Pellegrin adverte que em diversos bons manuscritos encontra-se
escrito “virtude e vício políticos”.
42 Cf. Luiz Henrique Lopez dos Santos. Ensaio introdutório ao Tractatus, in
Wittgenstein, Ludwig. Tractatus lógico-philosophicus. São Paulo, Edusp, 2001, p. 11-133.
Trata-se de um texto de leitura obrigatória a todos aqueles que se interessam pela
teoria da significação e do discurso em Aristóteles e Wittgenstein.
Norma, moralidade e interpretação... - 189
que se fala e isso de que se fala. O sentido, portanto, supõe
essa relação entre a ordem do discurso e a ordem das coisas.
Para os sofistas, ao contrário, não faz sentido dizer como
as coisas são, pois tudo é como me parece. Portanto, se me
parece hoje que Sócrates é filósofo, ele é filósofo para mim. Se
amanhã não me parecer, ele não será. Assim, todo juízo é ver-
dadeiro relativamente a quem o enuncia. Se assim me parece,
assim o é. Se assim creio, assim será43. Procuremos esclarecer
esse ponto através de um comentário de Alexandre de Afro-
disias em seu comentário à Metafísica de Aristóteles, quando
discute uma tese de Antístenes acerca da impossibilidade da
contradição e do discurso falso. Comenta Alexandre:
Mas Antístenes estimava que cada uma das coisas que
é, é expressa unicamente pelo discurso próprio, e que
não havia senão um para cada coisa, que é o discurso
próprio. Em troca, o discurso que significa alguma coi-
sa, sem ser próprio à coisa da qual dizemos que ele é o
discurso próprio lhe é estrangeira. A partir de tais prin-
cípios, Antístenes buscava concluir que não é possível
contradizer. Com efeito, aqueles que estão em desacordo
sobre uma coisa dizem coisas diferentes. Mas não é pos-
sível produzir discursos diferentes a propósito da mesma
coisa, dado que não há senão um discurso próprio a cada
realidade, e quem fala, fala apenas disso. Consequente-
mente, se dois homens falam da mesma coisa, eles não
se contradizem um ao outro. Se eles dissessem, em tro-
ca, coisas diferentes, não falariam mais da mesma coi-
sa, uma vez que não existe senão um discurso relativo
à mesma coisa, e que aqueles que estão em desacordo
devem falar da mesma coisa. E assim Antístenes concluía
que não é possível contradizer. Mas também não é mais
possível, de certo modo, dizer o falso, dado que não po-
demos nada dizer de outro a propósito de alguma coisa
senão o discurso que lhe é particular44.
39 Não importa aqui que esse solipsismo seja relativo a um indivíduo ou a
um grupo, uma comunidade interpretativa.
40 Alexandre de Afrodísias. In Aristotelis Metaphysica commentaria. Ed.
Hayduck, Berlim, 1891, p. 434, 25-435, 20.
190 - Norma, moralidade e interpretação...
O discurso do sofista elimina, portanto, a possibilidade de
que se tenha uma escolha a partir do enunciado em termos de
relação daquilo que se diz com as coisas mesmas. Não se pode
medir pelo ser o discurso. Dizer, como o faz a tese de Antíste-
nes, que um enunciado é verdadeiro ou não é enunciado é o
mesmo que dizer, para Aristóteles, que não existe enunciação.
Esse é o projeto sofístico: não é possível dizer como são as
coisas; tudo que me parece é.
Stanley Fish está perfeitamente consciente das conse-
quências de sua posição acerca da interpretação. Princí-
pios lógicos como o da contradição e a equivalência dos
idênticos tornam-se tão variáveis e contingentes quanto o
próprio conceito de previsibilidade45. A força faz o justo,
pois na ausência de uma perspectiva independente de toda
interpretação, afirma Fish, o ponto de vista que se impõe
será aquele que houver prevalecido sobre as interpretações
concorrentes.
Ficam, portanto, evidentes as razões que nos fazem
aproximar Stanley Fish dos argumentos sofísticos tal como
foram apresentados por Platão e Aristóteles. Afirmar, ao
contrário, com Aristóteles a possibilidade da racionalidade
no domínio especulativo e prático é uma tarefa que extra-
pola os limites desse artigo. O ponto central do ataque do
Estagirita concentra-se, entretanto, na análise da atividade
enunciativa e de seu propósito, estudados nos seis primei-
ros capítulos do Peri Hermeneias. Uma das características
fundamentais do conceito de discurso significativo é a pos-
sibilidade de ele ser verdadeiro ou falso. A atividade enun-
ciativa está ligada à atividade da escolha entre apresentar,
pelo discurso, o modo pelo qual as coisas são ou não são.
Para Aristóteles, na medida em que a sofística nega a pos-
sibilidade do falso, torna vazio o conceito de escolha enun-
ciativa e, portanto, elide a diferença entre afirmar e negar
algo. Nega-se, assim, o princípio de contradição. A refuta-
41 Cf. Fish, S. Respecter le sens commun. Op. cit. p. 2.
Norma, moralidade e interpretação... - 191
ção a Stanley Fish consistiria em solicitar-lhe que signifique
algo, o que lhe levaria a pressupor a atividade lógica da
escolha enunciativa, ou bem a permanecer mudo como um
vegetal.
192 - Norma, moralidade e interpretação...
Hobbes e o poder fora do modelo
jurídico da soberania.1
Maria Isabel Limongi
UFPR- CNPq
No seu curso no Collège de France de 1976, Em defesa da
Sociedade, M. Foucault procura mostrar como uma certa litera-
tura emergente entre os séculos XVII e XVIII começou a pen-
sar o poder sob o modelo da guerra e da conquista, e, desse
modo, fora do modelo jurídico da soberania, que teria sido
dominante até então. Trata-se para Foucault de fazer a defesa
desse novo modo de pensar o poder e de explorá-lo como um
instrumento profícuo para pensar suas manifestações. Segun-
do ele, “é preciso pensar o poder fora do modelo jurídico da
soberania”.2
Nesse contexto, Foucault menciona Hobbes por diver-
sas vezes a fim de recusar-lhe a paternidade desse discurso
do qual faz o elogio. Certo, Hobbes “pôs a relação de guerra
no fundamento e no princípio das relações de poder” (FOU-
CAULT, 2005, p. 102). Mas o fez não para pensá-la como algo
que “percorre o corpo social” (FOUCAULT, 2005, p. 194) e sim
para fazê-la cessar pela instituição da soberania. Esta funda-se
no contrato. E mesmo no que Hobbes denomina a soberania
por aquisição, em que não é o acordo mútuo o que está na
42 O mote desse artigo me foi sugerido por Péterson Bem, bolsista do PET-
filosofia/ UFPR, que, a partir do conceito de poder que eu lhe apresentara na filosofia
de Hobbes, intuiu que Foucault, ao escrever sobre o poder, devia mais do que pen-
sava a Hobbes, não sendo inteiramente justa a leitura que fazia dele em Em Defesa da
Sociedade.
43 Três traços distinguem esse modelo, que se trata de recusar: “a teoria da
soberania pressupõe o sujeito, ela visa fundamentar a unidade essencial do poder e
se desenvolve sempre no elemento preliminar da lei” (FOUCAULT, 2005, p. 50).
Norma, moralidade e interpretação... - 193
base do contrato, mas a conquista ou a vitória de um homem
sobre aquele a quem ele concede a vida em troca da submis-
são, é ainda o contrato entre o vencedor e o vencido, observa
Foucault, o que funda o poder soberano. De modo que, con-
clui ele:
A constituição da soberania ignora a guerra. E haja ou
não guerra, essa constituição se faz da mesma forma. No
fundo, o discurso de Hobbes é um certo “não” à guer-
ra: não é ela realmente que engendra os Estados, não é
ela que se vê transcrita nas relações de soberania ou que
reconduz ao poder civil - e às suas desigualdades - dis-
simetrias anteriores de uma relação de força que teriam
sido manifestas no próprio fato da batalha (FOUCAULT,
2005, p. 112).
Assim, longe de pensar a instituição da soberania a partir
da guerra, Hobbes a pensa como uma forma de superação da
guerra. Mais que isso, ele elabora a sua teoria da soberania
em resposta ao que Foucault denomina o “discurso históri-
co”, este que pensa o poder segundo o modelo da guerra e da
conquista e que começa a ganhar corpo na literatura inglesa
de reação ao poder monárquico no século XVII.
Foi esse discurso da luta e da guerra civil permanente
que Hobbes conjurou ao repor o contrato atrás de toda
guerra e de toda conquista e salvando assim a teoria do
Estado. Daí o fato, é claro, de a filosofia do direito ter
dado depois, como recompensa, a Hobbes o título sena-
torial de pai da filosofia política. Quando o capitólio do
Estado foi ameaçado, um ganso despertou os filósofos
que dormiam. Foi Hobbes. (FOUCAULT, 2005, p. 114)
Hobbes seria assim o mais ferrenho defensor da soberania
como modelo para pensar o poder - um modelo que é romano,
segundo Foucault, pois reafirma o direito romano (Cf. FOU-
CAULT, 2005, p. 30) e se expressa no modo romano de contar
a história como um cerimonial de justificação do poder (Cf.
FOUCAULT, 2005, p. 76). A filosofia de Hobbes seria assim,
como a de Grotius e Pufendorf, um prolongamento do jusna-
194 - Norma, moralidade e interpretação...
turalismo clássico, em reação às “estratégias discursivas” que
o ameaçavam.
Deixando de lado o uso estratégico que Foucault faz de
Hobbes para trazer à luz o conceito de poder tal como ele pró-
prio se interessa por pensá-lo, e levando em conta apenas o
que essa leitura esclarece acerca do modo como Hobbes pen-
sou o poder, ela parece bastante correta quando afirma que,
para Hobbes, a instituição da soberania inscreve o poder num
quadro jurídico que vem substituir e mesmo negar o da guer-
ra. No entanto, não parece ser verdade que Hobbes tenha pen-
sado o poder apenas sob um modelo jurídico. Pelo contrário,
ele parece ter sido um dos primeiros a oferecer um conceito
bastante preciso do poder enquanto potência, enquanto uma
capacidade de atingir fins, entendida num sentido delibera-
damente não jurídico, e a pensar as relações sociais a partir
daí.
De posse desse conceito, Hobbes pôde então pensar a ins-
tituição da soberania nos termos de uma relação entre poder
e direito, o que é diferente de pensar o poder desde sempre
num quadro jurídico, de modo que sua relação com o direito
sequer se ponha, por falta de uma clara diferenciação entre
os planos. Noutros termos, se é verdade que Hobbes reativa
o modelo clássico da soberania, ele o faz de modo a pensar o
poder - e a partir daí a soberania - de uma forma já não clássi-
ca.3
***
Esse conceito não jurídico do poder é apresentado no
capítulo X do Leviathan, que desenvolve, mas não sem uma
série de modificações importantes, o conceito de poder
esboçado dez anos antes na parte 1, capítulo VIII do The
1 Dos três traços da teoria da soberania mencionados na nota 1, trata-se as-
sim de recusar que o terceiro deles se aplique a teoria hobbesiana da soberania , isto
é, que Hobbes tenha pensado o poder “sempre no elemento preliminar da lei”.
Norma, moralidade e interpretação... - 195
Elements of Law, em que se faz menção ao poder em um
capítulo, um entreato da teoria das paixões. Para falar das
paixões que envolvem uma concepção do futuro, diz Ho-
bbes, é preciso antes falar do poder. E seguem-se alguns
parágrafos sobre o poder, que constituirão o núcleo do fu-
turo capítulo X do Leviathan, em que o poder ganha um
tratamento a parte, como um conceito que por si só merece
atenção, não mais simplesmente como um capítulo da teo-
ria das paixões.
De que poder se trata nessa passagem do The Elements
of Law? Trata-se de uma capacidade de produção das coisas,
que, no De Corpore, Hobbes vai assimilar à causa eficiente. “O
poder do agente e a causa eficiente são a mesma coisa”, com
a diferença que a causa se diz de um efeito passado e o po-
der de um efeito a ser produzido no futuro (HOBBES, 1966,
II, X, 1). Esse poder está concernido nas paixões que envol-
vem uma concepção do futuro, porque essa concepção con-
siste justamente na atribuição de um poder a algo (o poder
de produzir um efeito) que projeta no futuro o que se sabe no
passado acerca da capacidade de produção da coisa em ques-
tão. O poder de que aqui se trata é, em suma, a velha potência
aristotélica, pensada em termos de uma capacidade atual de
produção.
No entanto, o que há de novo nesse conceito de poder
não é apenas que ele seja pensado em termos de uma capaci-
dade atual, mas também - o que nos interessa - o uso que Ho-
bbes faz dele para pensar a relação entre os homens e o modo
como as paixões se formam nessas relações - se quisermos, a
aplicação antropológica que Hobbes lhe dá. Pois, não é toda e
qualquer concepção de poder, entendido como um poder de
produção das coisas, mas a concepção do nosso próprio poder,
a que está envolvida na formação das paixões. Assim, tendo
anunciado que é preciso falar do poder porque certas paixões
envolvem uma concepção dele, o texto prossegue tratando do
poder dos homens:
196 - Norma, moralidade e interpretação...
Por este poder quero dizer o mesmo que as faculdades
do corpo e da mente, mencionadas no primeiro capítulo,
a saber, as do corpo, a nutritiva, generativa e motiva, e as
da mente, o conhecimento. E além destas, outros poderes
que se adquirem por seu intermédio, como a riqueza, po-
sição de autoridade (place of authority), amizade ou favor,
e a boa fortuna, que não é outra coisa senão o favor de
Deus Todo Poderoso. (HOBBES, 1969, I, 8, 4)
E o que está em jogo não é apenas a concepção de nosso
próprio poder, mas a concepção que fazemos de nosso poder
relativamente ao dos outros homens. Assim segue o texto:
Porque o poder de um homem resiste e enfraquece os
efeitos do poder de um outro, o poder simplesmente não
é mais do que o excesso de poder de um homem sobre
outro. Pois, poderes iguais opostos destroem um ao ou-
tro, e esta oposição é denominada disputa (contention).
(Idem)
Há três idéias importantes aí, a saber, (1) que as faculda-
des humanas consistem em poderes, em capacidades de pro-
dução ou ação, (2) que esses poderes são instrumentos para se
adquirir mais poder e (3) que o poder de um homem reside
no excesso de seu poder sobre outro homem. Hobbes parte
daí, dessa aplicação de um conceito físico do poder enquanto
capacidade de produção das coisas a um contexto antropoló-
gico, para elaborar uma teoria do poder (que não o soberano)
no capítulo X do Leviathan.
Num ganho em precisão com relação ao The Elements of
Law, Hobbes começa esse capítulo definindo o poder como
“os meios presentes [de que um homem dispõe] para obter
o que lhe aparece como um bem futuro” (HOBBES, 1985, p.
150). Em seguida, nomeia os dois tipos de poderes elencados
no The Elements of Law, como, de um lado, os poderes naturais
(as faculdades do corpo e da mente) e, do outro, os poderes
instrumentais, “que são adquiridos por meio daqueles ou pela
fortuna” e que - uma observação que faltava no The Elements
of Law - “são meios ou instrumentos para se adquirir mais po-
Norma, moralidade e interpretação... - 197
der”. Essa observação é importantíssima. Pois ela define o ob-
jeto do capítulo - um novo objeto em relação ao The Elements of
Law - que não é outro senão os modos de instrumentalização
do poder.
Mais especificamente, trata-se para Hobbes de tematizar
os modos de instrumentalização social do poder. Pois, logo
após definir o poder e distinguir entre poder natural e instru-
mental, Hobbes descreve três modos pelos quais os homens
podem compor o seu poder com o dos outros, e, nesse sentido
preciso, instrumentalizá-lo, isto é, adquirir mais poder. Um
desses modos é o do Estado, o maior dos poderes humanos,
“composto pelos poderes de vários homens, unidos por con-
sentimento numa só pessoa, natural ou civil, que tem o uso de
todos os seus poderes na dependência de sua vontade” (HO-
BBES, 1985, p. 150). Mas Hobbes não menciona o poder so-
berano senão para afastá-lo do horizonte de sua investigação
imediata, que se detém no outro modo de compor poderes,
que é aquele pelo qual os homens, usando de seus poderes
cada um conforme a sua própria vontade, formam facções ou
coligações de facções. Esse modo de composição de poder se
distingue assim expressamente da via jurídica da soberania.
Onde existem facções - num contexto social, portanto - o
poder de um homem (aquele diferencial de poder que ele tem
sobre os outros) reside num poder de cooptação de amigos
e servidores. “Ter servidores é poder; e ter amigos é poder:
porque são forças unidas” (HOBBES, 1985, p. 150). Trata-se
assim de uma capacidade de usar o poder reunido a favor dos
próprios fins. E Hobbes trata então de explicar como isso se
dá.
O eixo da cooptação é o valor, que Hobbes define da se-
guinte maneira: “o valor de um homem, tal como o de todas
as outras coisas, é seu preço; isto é, tanto quanto seria dado
pelo uso de seu poder. Portanto, não absoluto, mas algo que
dependente da necessidade e julgamento de outrem” (HOB-
BES, 1985, pp. 151-152). É em vista da avaliação que os ho-
198 - Norma, moralidade e interpretação...
mens fazem dos poderes uns dos outros que eles escolhem
usar do próprio poder aliando-se, submetendo-se ou opondo-
se (ainda que isso não esteja aqui em questão por não ser uma
forma de cooptação) aos poderes dos outros. Ser capaz de reu-
nir forças em torno de si é ser bem valorizado.
Isso quer dizer que o poder é fundamentalmente rela-
cional. Ele não é algo que um indivíduo disponha senão por
meio da opinião que os outros fazem dele, de seu poder e do
uso que podem fazer de seu poder. É na medida em que são
valorizados que os homens têm poder, ou melhor, um diferen-
cial de poder em relação aos outros homens, tornado-se assim
capazes de reunir forças em torno de si. Daí a importância do
conceito de honra, que Hobbes define como “a manifestação
do valor que mutuamente nos atribuímos” (HOBBES, 1985, p.
152), na caracterização do que podemos entender como uma
dinâmica social do poder, que Hobbes passa a desenvolver a
partir daí. Nessa dinâmica, o poder significado na honra ou
a honra enquanto um signo do poder - mais precisamente:
enquanto um signo do valor, que, por sua vez, resulta em po-
der - passa a valer como o próprio poder, na medida em que,
ao significar uma capacidade de cooptação, ela se torna essa
mesma capacidade. Compreende-se assim que a disputa para
Hobbes se dê não apenas na forma de uma disputa de forças,
mas sobretudo na forma de uma disputa pela glória e reputa-
ção, que são signos do poder e elas mesmas poder.4
2 Yves-Charles Zarka denomina a teoria do poder desenvolvida no capítulo
X do Leviathan uma “semiologia do poder”, insistindo em que o tratamento confe-
rido ao poder é tal de modo a inscrevê-lo no domínio da linguagem e do signo, e
não no da física, o do movimento e composição de movimentos (Cf. ZARKA, 1995,
cap. IV). No entanto, se é verdade que o signo desempenha uma papel fundamental
na formação das relações de poder, seus efeitos não são apenas da ordem do signo,
como sugere Zarka, mas de ordem física, já que a significação do poder leva a uma
certa reunião de forças. Sendo assim, a disputa pela honra não é uma outra forma de
guerra, por natureza diversa da batalha e do jogo de forças, como por sua vez sugere
Foucault, ao dizer que no estado de guerra hobbesiano o que está em questão “não é
a batalha, o enfrentamento direto das forças, mas certo estado dos jogos de represen-
tações umas contra as outras” (FOUCAULT, 2005, p. 106). Ora, a guerra, concebida
por Hobbes como um jogo de signos ou representações, não deixa por isso de ser um
jogo de forças e uma forma de batalha.
Norma, moralidade e interpretação... - 199
Assim, o poder é pensado no Leviathan como uma capaci-
dade relacional. Enquanto no The Elementes of Law ele é pen-
sado como uma qualidade dos indivíduos, comparada com a
dos outros, mas que o indivíduo possui independentemente
dos outros, no Leviathan, o poder de cada um se determina
somente no interior de uma certa dinâmica de disputa pelo
poder (a guerra), que, mais do que um contexto relacional, é
um contexto social de inscrição do poder, já que a disputa se
dá na forma de uma disputa pelo reconhecimento social do
poder, que é o valor e a honra.
Trata-se, além disso, de pensar o poder enquanto um
modo não jurídico de reunião de forças, alternativo ao da so-
berania, e que se apóia, não na razão, mas na opinião que os
homens fazem uns dos outros. Hobbes pensa o poder, nesse
contexto, em continuidade com o modo como Maquiavel o
pensou, isto é, enquanto uma reunião de forças ou capacida-
de de realização conjunta que passa fundamentalmente pela
construção de uma boa imagem ou pela capacidade de se fa-
zer bem representar pelos outros.5 O poder assim pensado,
enquanto a conjunção entre aparência e força, é expressa com
exatidão num dos fragmentos dos Pensées de Pascal, que se-
gue também nesse ponto Maquiavel e Hobbes: “ser elegante
não é por demais vão, pois é mostrar que um grande núme-
ro de gente trabalha para si. (....) Quanto mais braços se tem,
mais forte se é. Ser elegante é mostrar sua força” (PASCAL, fr.
95).
À diferença de Hobbes, contudo, e como Maquiavel, Pas-
cal pensará a constituição do poder político ou da soberania
a partir desse jogo de forças e aparências, e não pela via do
direito.6 Que Hobbes, por seu turno, tenha contraposto a so-
berania à guerra, não quer dizer que, ao pensar esta última,
não tenha contribuído para a formulação e precisão de um
novo conceito, um conceito moderno do poder, em que este é
3 Sobre o papel na aparência na formação do poder do príncipe, ver a análi-
se de Lefort dos capítulos XV e seguintes de O Príncipe in: LEFORT, 1986, pp. 402 e ss.
4 Ver nesse sentido LAZZERI, 1993.
200 - Norma, moralidade e interpretação...
pensado fora de um quadro jurídico. Para Hobbes, as relações
não jurídicas de poder antecedem as relações de direito e for-
necem o contexto a partir do qual o direito será instituído.
***
Se for exagero ressaltar a importância do capítulo X do
Leviathan dizendo que o poder, ou, mais precisamente, as rela-
ções inter-humanas de poder, foram pensadas até então sem-
pre sobre um pano de fundo jurídico, é certo que pensar o
poder por outra via que não a jurídica, como faz Hobbes nesse
texto, contém algo de inusitado; é algo que passa longe, por
exemplo, de um autor como Locke, que ignora inteiramente
esse caminho.
De uma lado, Locke trata do poder enquanto uma capaci-
dade de produção das coisas, ou, mais precisamente, segundo
ele, enquanto uma capacidade de produzir ou sofrer mudan-
ças (conforme o poder seja ativo ou passivo), sem aplicar esse
conceito a uma contexto antropológico e social (Cf. LOCKE,
1892, II, cap. 21). De outro, quando o assunto é o poder polí-
tico, em comparação com o poder do pai sobre os filhos e do
senhor sobre os servos, quando o assunto é as relações de po-
der entre os homens, Locke usa de maneira intercambiável as
noções de poder (power) e direito (right), ao dizer, por exemplo,
que “o poder político é um direito de fazer leis” (LOCKE, 1967,
p. 404), ou que uma pessoa que sofre um dano “tem o poder de
apropriar-se dos bens ou serviços do ofensor, pelo direito de
auto-preservação” (LOCKE, 1967, p. 407), entre tantas outras
passagens que mostram que Locke pensa o poder sempre en-
quanto um direito, ignorando totalmente a possibilidade de
pensá-lo fora de um quadro jurídico. Assim, se o tratamento
que Hobbes dá ao poder não é novo, certamente não é consen-
sual.
É certo que Hobbes encontra numa certa tradição teológi-
ca minoritária e heterodoxa a que ele dá voz, a idéia de uma
anterioridade do poder sobre o direito, pensado nesse contex-
Norma, moralidade e interpretação... - 201
to como o poder de Deus. Como mostra L. Foisneau, ao pen-
sar a questão da onipotência divina, Hobbes se inscreve numa
tradição medieval que relaciona o poder de Deus unicamente
a sua vontade, recusando qualquer distância entre o que Deus
quer e o que Deus pode. Segundo essa tradição “Deus quer o
que tem o poder de fazer“ (FOISNEAU, 2000, p. 34), de modo
a não ser possível pensar que o poder de Deus seja de algum
modo regulado por uma vontade boa, diferente desse mesmo
poder. A consequência disso, que a ortodoxia representada
pelo bispo John Bramhall em sua polêmica com Hobbes quer
evitar, é que, sendo assim, Deus seria um tirano, seu poder
não estando assentado sobre o solo da justiça (Cf. FOISNEAU,
2000, cap. 1).
Hobbes encontra assim na teologia, bem como na física,
os elementos a partir dos quais elaborar sua teoria do poder.
O que é surpreendente, contudo, é o modo como Hobbes apli-
ca esse conceito teológico e físico do poder a um contexto an-
tropológico, pelo que se constitui uma teoria social do poder,
na qual o poder é pensado fora de um contexto jurídico. É
somente de posse dessa teoria que Hobbes pode pensar o po-
der soberano em analogia com o poder divino, pois é só na
medida em que os homens dispõem de um poder que não é
qualificado juridicamente e que esse poder compõe o poder
soberano, que este último pode ser, ao menos em parte, fun-
dante do direito (em analogia com o poder de Deus) e não
inteiramente fundado nele.
O projeto de Hobbes é, sem dúvida, integrar o poder as-
sim pensado na soberania, e dar-lhe, por assim dizer, uma
armadura jurídica. Mas isso apenas depois de o ter pensado
fora dela, como um tipo de poder diferente do soberano, e
que, enquanto tal, participa deste último. Pode-se dizer que
a soberania é uma forma jurídica de constituir o poder, entre
outros caminhos pelos quais o poder se forma e se manifesta,
que competem com este e que Hobbes mantém em vista quan-
do trata das causas da dissolução do Estado (Cf. LIMONGI,
202 - Norma, moralidade e interpretação...
2009). O poder é, portanto, algo que pode ser composto juri-
dicamente, mas que não é, ele mesmo, de natureza jurídica,
podendo assim assumir outras formas e se compor de outro
modo que não o jurídico.
Dito isso, permanece de pé o diagnóstico de que Hobbes
quis neutralizar o discurso da conquista por um “enquadra-
mento jurídico” do poder. Mas trata-se de um novo conceito
do poder, de um “puro poder” reconhecido enquanto tal.7
A elaboração desse novo conceito faz nascer o que talvez se
possa entender como o problema central da política, a partir
dos modernos: qual a relação entre direito e poder? Esta ques-
tão, que está no centro das reflexões de Foucault (e não só
dele), só pode se colocar a partir da elaboração de um conceito
não jurídico do poder, para a qual Hobbes colaborou de ma-
neira decisiva. Assim, Foucault deve mais a Hobbes do que
está disposto a admitir e seu conceito de poder não se opõe
terminantemente ao de Hobbes como podemos ser levados a
pensar.8
5 L. Foisneau após distinguir com precisão os dois principais sentidos em
que Hobbes desenvolve uma teoria do poder - enquanto potentia e enquanto potestas -
pergunta-se, acerca da afirmação de Leo Strauss segundo a qual a filosofia de Hobbes
teria sido “a primeira filosofia do poder”, se “não seria melhor usar o plural no lugar
do singular, na medida em que se encontram duas filosofias do poder em Hobbes, a
saber, uma filosofia da potentia e uma filosofia da potestas” (FOISNEAU, 1992, p. 102).
Ora, o que é surpreendente na teoria hobbesiana do poder, e o que justifica a afirma-
ção de que Hobbes é o “primeiro filósofo do poder” no singular, é o modo como Ho-
bbes põe em relação esses dois conceitos distintos de poder, na medida em que para
ele a potestas constitui potentia e a potentia é, pela via do contrato, mas guardando sua
natureza não jurídica, constitutiva da potestas. É nesse sentido que Strauss assinala a
originalidade de Hobbes: “only if potentia and potestas essentialy belong together, can
there bee a guaranty of the actualization of the right social order.” (STRAUSS, 1968).
6 Sobre a oposição Hobbes/ Foucault Cf. ZARKA, 2001, cap. IX.
Norma, moralidade e interpretação... - 203
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
FOISNEAU, L. (1992) “Le Vocabulaire du pouvoir: potentia/ potestas,
power”. In: (ZARKA Y-C., org.) Hobbes et son vocabulaire, Paris: Vrin, 1992.
_______ (2000) Hobbes et la toute-puissance de Dieu. Paris: PUF.
FOUCAULT, M. (2005) Em defesa da sociedade, São Paulo: Martins Fontes.
HOBBES, T. (1966) De Corpore, In: The English Works of Thomas Hobbes, W.
Molesworth (ed.) Scientia Verlag Aalen.
_______ (1969) The Elements of Law, F. Tönnies (ed.), London: Frank Cass
& Co.
_______ (1985) Leviathan, Macpherson (ed.). London: Penguin Classics.
LAZZERI. C. Force et justice dans la pensée politique de Pascal. Paris: PUF, 1993.
LIMONGI, M. I. (2009) “Direito e Poder: Hobbes e a dissolução do Estado”
In: Dois Pontos, vol. 6. n. 1, Curitiba/ São Carlos.
LEFORT, C. (1986) Le travail de l’oeuvre Machiavel, Paris: Gallimard.
LOCKE, J. (1892) An Essay concerning human undertanding.In: The philosophi-
cal works of John Locke. J.A. ST. John (ed.), vol. 1 e 2, London/ N.Y.: George
Bell & Sons.
_______ (1967) An Essay concerning the true original, extent and end of civil
government. In: Burtt. E. A. (ed.) The English Philosophers from Bacon to Mill,
NewYork: Modern Library.
PASCAL, B. (1963) Pensées In: Lafuma (ed.), Oeuvres, Paris: Seuil
STRAUSS, L. (1968) Natural Right and History. Chicago: Chicago University
Press.
ZARKA, Y-C. (1995) Hobbes et la pensée politique moderne, Paris: PUF.
204 - Norma, moralidade e interpretação...
Pluralismo e concepção do bem
em Thomas Hobbes1
Luc Foisneau
CNRS/EHESS
O problema dos limites da teoria hobbesiana da justiça
pode ser abordado sob diversas perspectivas. Pode ser tra-
tado do ponto de vista das leis de natureza2 ou entendido a
partir do problema mais geral acerca do papel e influência de
Hobbes nas discussões contemporâneas em um campo que
atualmente é designado como teorias da justiça. Se é verda-
de que recentemente certos autores, como David Gauthier3,
buscaram atribuir um papel importante às intuições hobbe-
sianas, o resultado final está longe de ser favorável ao filósofo
inglês. Sua contribuição à teoria da justiça tem sido na maior
parte do tempo desacreditada, simplificada e quase sempre
tida por refutada. Convém, portanto, perguntar, à guisa de
introdução, por que os elementos de uma teoria da justiça que
se acham presentes de forma evidente nas obras políticas de
Hobbes4 não foram bem recebidos pela filosofia anglo-saxã
7 Tradução de Wladimir Barreto Lisboa
8 T. Sorell defendeu a idéia de que o conceito de justiça ocupava, no pensa-
mento de Hobbes, um lugar limitado, e que o conceito fundador era o de paz: “Far
from being able to be subsumed under the concept of justice, the laws of nature tell
people that a morality beyond justice is required to keep the peace.” (“Hobbes and
the Morality Beyond Justice”, Pacific Philosophical Quarterly, sept. 2001, vol. 82, nº 3
& 4, p. 241). Para uma reformulação desse mesmo argumento, ver, do mesmo autor,
“Hobbes’s Moral Philosophy”, in P. Springborg (éd.), The Cambridge Companion to
Hobbes’s Leviathan, Cambridge, CUP, 2007, p. 140-141.
9 Cf. D. Gauthier, Morals by agreement, Oxford, Oxford University Press,
1986, mas também sua interpretação de Hobbes, The logic of Leviathan: the moral and
political theory of Thomas Hobbes, Oxford, Clarendon Press, 1969.
10 Em “Leviathan’s Theory of Justice” (L. Foisneau, T. Sorell, eds, Leviathan
after 350 Years, Oxford, Oxford University Press, 2004, p. 105-122), esforcei-me para
caracterizar a teoria da justiça do Leviatã na perspectiva de seu anti-maquiavelismo.
Norma, moralidade e interpretação... - 205
contemporânea a não ser de forma truncada e deformada. Por
que a filosofia política de Hobbes precisou sofrer esse proces-
so de simplificação que chega ao ponto da pura e simples ca-
ricatura?
As críticas endereçadas por Hegel ao liberalismo político
e a resposta fornecida por Rawls ao se fazer o defensor de
um liberalismo libertário de tipo kantino podem nos ajudar a
compreender essa situação pouco confortável de Hobbes na
história das teorias da justiça. Em suas Lições sobre a história da
filosofia moral5, Rawls apresenta Hobbes como o inventor de
um sistema político no qual o Estado e a justiça estão a serviço
exclusivamente dos interesses privados:
A sociedade descrita pelo Leviatã é uma sociedade pri-
vada. Hegel afirma acerca de Hobbes que ele “exclui o
espírito, pois conduz apenas a uma única forma de agre-
gação”. Não conhece nenhuma forma de unidade uma
vez que nenhum fim é reconhecido por todos. Nesse sen-
tido, mas ainda em muitos outros, podemos falar de um
individualismo atomista6.
A passagem acima mostra claramente que Rawls aceita,
quanto ao essencial, a crítica hegeliana a Hobbes: o Estado
hobbesiano não possui uma verdadeira unidade, pois ele está
desprovido da esfera pública. Os cidadãos do Leviatã não
passam de indivíduos privados em busca da felicidade indi-
vidual, indiferentes a toda noção de interesse geral. Resulta
logicamente disso uma concepção empobrecida, para não di-
zer inexistente, de justiça, uma vez que a preocupação com a
felicidade prevalece sobre a consideração acerca do dever e do
direito. Em uma ordem política como a descrita por Hobbes,
as instituições do Estado não podem ser consideradas pelos
cidadãos como justas nelas mesmas nem a fortiori como susce-
tíveis de alimentar um sentido de justiça.
11 J. Rawls, Lectures on the History of Moral Philosophy, Cambridge, Mass., Har-
vard University Press, 2000, ‘Hegel’, Lecture 2; trad. fr. M. Saint-Upéry e B. Guillarme,
Paris, La Découverte, 2002, p. 356-357.
12 J. Rawls, Leçons sur l’histoire de la philosophie morale, op. cit., p. 357.
206 - Norma, moralidade e interpretação...
Todavia, enquanto Hegel visa condenar o liberalismo em
geral baseado em Hobbes, Rawls, por sua vez, procura mos-
trar que não há motivos para condenar o liberalismo apenas
por ser Hobbes condenável. Se Hobbes não compreendeu o
verdadeiro sentido do liberalismo7, uma doutrina pública de
direitos e liberdades, isso não quer dizer que não seja possí-
vel responder às críticas hegelianas do ponto de vista de uma
doutrina dos direitos e das liberdades. Existe, por conseguin-
te, um bom uso do liberalismo, aquele de Kant, que compre-
ende o papel da política e da opinião pública, e um mau uso,
o de Hobbes, que ignora esse papel. A força do argumento de
Rawls está em mostrar, contra Hegel, que não é verdadeiro
dizer que o liberalismo das liberdades se opõe a uma idéia de
esfera pública fundada no uso público da razão. Um tal erro
não pode lhe ser imputado a não ser que confundamos o libe-
ralismo das liberdades com aquela versão truncada fornecida
por Hobbes e que podemos chamar de liberalismo da felici-
dade individual. Não podemos subestimar o fato de que esta
resposta a uma das principais críticas do liberalismo político
tenha podido modificar nossa leitura de Hobbes.
A reformulação contemporânea do problema remete a
uma dificuldade bem mais antiga e encontrada já entre os su-
cessores de Hobbes ao confrontarem-se com sua definição mi-
nimalista de justiça como respeito às convenções válidas. Ora,
os primeiros leitores do Leviatã não estavam preocupados com
a dimensão social da justiça ou de sua inscrição nas instituições
que formam aquilo que Rawls designa como sendo a “estru-
tura de base” da sociedade8. Mesmo assim, eles percebiam,
de forma bastante aguda, que a teoria hobbesiana da justiça
1 Para uma interpretação recente do liberalismo de Hobbes e uma abor-
dagem crítica da tese de Leo Strauss, ver L. Jaume, “Hobbes and the Philosophical
Sources of Liberalism”, in P. Springborg (ed.), The Cambridge Companion to Hobbes’s
Leviathan, op. cit., p. 199-216.
2 “Para nós, o objeto primeiro da justiça é a estrutura de base da sociedade
ou, mais exatamente, o modo pelo qual as instituições sociais mais importantes re-
partem os direitos e os deveres fundamentais e determinam a repartição das vanta-
gens retiradas da cooperação social”. (Théorie de la justice, § 2, p. 33, trad. C. Audard,
Paris, Seuil, 1987, p. 33).
Norma, moralidade e interpretação... - 207
ignora qualquer referência a um conteúdo moral específico. E
isso os revoltava. Bastava assim um passo para concluir que a
teoria do Leviatã, além de minimalista, era imoral, e esse passo
foi rapidamente dado. Em outras palavras, e para fornecer uma
formulação resumida do problema, podemos perguntar como
pode ser possível que a teoria da justiça ocupe em Hobbes um
lugar tão limitado de tal forma que ela não faça referência a
um sentido moral de justiça? Não seria contraditório pretender
que, de um lado, a justiça diz respeito a uma teoria moral, a das
leis de natureza9, e, de outro, que a justiça é alcançada quan-
do satisfeitos os acordos em um Estado garatidor da seguran-
ça dos contratos? Hobbes parece, com efeito, abrir um abismo
entre as condições modernas, a saber, convencionais, sociais e
políticas de justiça e a significação moral, indissociavelmente
natural, que lhe era antigamente associada e que, em outras
tradições políticas, ainda continua a sê-lo.
Nesse artigo, buscarei mostrar que o problema encontra-
do pelos sucessores de Hobbes não se deveu a um erro que
teria sido cometido exclusivamente pelo filósofo inglês, mas
que ele é tributário do modo como o problema da justiça era
colocado na filosofia moderna. Não há dúvida de que Hobbes
desempenhe nessa história – a da justiça – o papel do vilão,
como o mostra o fato de que nenhuma lição lhe tenha sido
consagrada por Rawls em suas Lições sobre a história da filosofia
moral, enquanto Hume, Kant e Hegel foram cada um objeto
de diversas lições. Minha hipótese é que esse modo cavalhei-
resco é uma maneira cômoda de elidir um problema central
da teoria moderna da justiça: como Hobbes ousou colocar o
problema da justiça fazendo economia do sentido moral, fi-
zeram-lhe pagar um preço elevado por sua lucidez. Hobbes
desempenha nessa história o papel de bode expiatório, aquele
cujo sacrifício permite desviar o olhar dos erros que pesam
sobre todo o grupo, ou seja, sobre as teorias da justiça em sua
versão moderna.
3 “A ciência dessas leis [de natureza] é a verdadeira e única filosofia moral”
(Leviatã, cap. XV, 2˚ § a partir do fim, trad. F. Tricaud, Paris, Sirey, 1971, p. 159).
208 - Norma, moralidade e interpretação...
Na sequência, esforçar-me-ei em mostrar que Hobbes
identificou perfeitamente o principal problema de toda teoria
moderna da justiça o qual reside na necessidade de respon-
der, por meio de regras específicas, a uma mudança radical
na compreensão do bem. Existe evidentemente uma resposta
hobbesiana para essa dificuldade. Todavia, por nos interessar-
mos em demasia pela solução, acabamos esquecendo que o
essencial residia na colocação do problema. Quanto à solução
de Hobbes, ela foi unanimemente rejeitada como não sendo
suficientemente “moral”. Mas é precisamente essa imoralida-
de ou essa insuficiência moral da concepção de justiça que
constitui a principal força da reflexão moderna sobre a justiça.
Em um primeiro momento, buscarei reconstruir a natu-
reza do problema tentando mostrar que a análise hobbesiana
da noção de bem não pode ser reduzida, como frequentemen-
te é feito, à tese do egoísmo, mesmo que se trate de um tipo
“racional” de egoísmo. Em um segundo momento, procura-
rei determinar o que constitui a novidade de sua concepção
da justiça e refletir sobre o paradoxo que consiste em expor,
como o faz Hobbes, essa concepção no quadro tradicional de
uma teoria acerca das leis de natureza. Por fim, tentarei mos-
trar em que medida a resposta de Hobbes ao argumento do
insensato, apresentada no capítulo XV do Leviatã, é uma ma-
neira de reivindicar o caráter público da teoria da justiça e de
afirmar a prioridade do justo sobre o bem.
A filosofia moral de Hobbes e a teoria do egoísmo
Inicialmente, é preciso insistir no fato de que Hobbes não
se considerava um partidário do egoísmo. O retrato que usu-
almente se faz dele como um teórico do egoísmo contribuiu
para adulterar sua imagem e para colocá-lo em um lugar que
não é o seu na história do pensamento moral. O que é exa-
to, no entanto, é que Hobbes desenvolve uma filosofia moral,
pois ele inscreve seu pensamento no quadro tradicional de
Norma, moralidade e interpretação... - 209
uma teoria da lei natural. Todavia, essa filosofia possui um
estilo novo, na medida em que repousa sobre uma nova con-
cepção do bem. Não há dúvida de que alguns de seus leitores
tomaram sua concepção de bem como estando em contradi-
ção com o esquema geral de uma teoria acerca da lei natural,
mas isso não implica de forma alguma que o próprio Hobbes
não tenha se esforçado por conciliar esses dois elementos em
um esquema teórico coerente.
A primeira observação que deve ser feita é que essa teoria
moral de um tipo novo introduz uma grande transformação
na concepção de bem:
Mas o objeto, qualquer que ele seja, do apetite ou do de-
sejo de um homem é isso que esse chama de bom. E ele
chama de mau o objeto de seu ódio ou aversão; vil e ne-
gligenciável, o objeto de seu desdenho10.
Essa inovação conceitual transforma profundamente o
pensamento moral na medida em que o desejo não mais é
visto como o meio para alcançar um bem definido indepen-
dentemente dele –“simply and absolutely so”11, mas como o
princípio em função do qual uma coisa será, ou não, boa para
nós. Segue-se logicamente que o “bem” não mais reside na
“natureza dos objetos em si”12, mas no juízo das pessoas que
os desejam. Não é ilegítimo falar aqui de uma mudança sub-
jetivista na filosofia moral que Hobbes aproxima claramente
da mudança subjetivista que se opera, no mesmo momento,
na metafísica e na filosofia natural. Uma confirmação desse
vínculo é dada pela estrutura do Leviatã que propõe sua nova
definição de bem no capítulo consagrado às paixões, o qual
se acha no prolongamento dos capítulos iniciais consagra-
dos respectiva e sucessivamente à sensação e à imaginação.
De acordo com essa ordem de exposição, que retoma resu-
4 Hobbes, Leviathan, cap. VI, alínea 7, ed. R. Tuck, Cambridge, CUP, 1997; Lé-
viathan, trad. F. Tricaud, Paris, Sirey, 1971, p. 39/p. 48; doravante a primeira referência
remete à edição inglesa, a segunda à tradução francesa de François Tricaud.
5 Ibid.
6 Ibid: “the nature of the objects themselves”.
210 - Norma, moralidade e interpretação...
midamente o sistema dos Elementos de Filosofia13, Hobbes afir-
ma claramente que a nova filosofia moral depende da grande
descoberta filosófica da modernidade, a saber, da idéia segun-
do a qual não conhecemos as coisas nelas mesmas, mas ape-
nas como elas nos aparecem na percepção14.
Todavia, dizer do bem que ele não depende daquilo que
é bom em si, mas do que cada um percebe como tal não signi-
fica de forma alguma que Hobbes opte por um sistema moral
determinado e ainda menos que ele se pronuncie em favor do
“egoísmo racional”.
Que escolhamos buscar a riqueza, nossa carreira ou a gló-
ria – que dizem respeito, propriamente falando, ao egoísmo
– ou que nos consagremos ao avanço e promoção do saber,
da moral, da religião ou do bem público – projetos de vida
que dizem respeito a uma ou outra forma de altruísmo – isso
depende da decisão de cada um. De fato, os críticos de Hob-
bes confundiram, ao menos assim me parece, dois tipos de te-
ses que encontramos em sua obra: sua concepção subjetivista
do bem foi rápida e erroneamente associada a suas célebres
descrições do modo de vida moderno como uma corrida pela
riqueza e pela glória15. Em verdade, ainda que os dois níveis
de análise estejam interligados, trata-se de duas perspectivas
distintas: a descrição viva e eloquente do modo de vida do
indivíduo moderno é fruto da observação do moralista, para
não dizer de um sociólogo avant la lettre, ao passo que a teo-
ria do bem pertence à filosofia moral propriamente dita. Que-
7 Trata-se dos Elementa philosophiæ, dos quais o De Corpore forma a sectio
prima, e De Homine a sectio secunda e o De Cive a sectio tertia.
8 sobre a influência de Hobbes e de Descartes nessa revolução epistemoló-
gica, ver R. Tuck, “Hobbes and Descartes”, in G.A.J. Rogers and A. Ryan (éd.), Pers-
pective on Thomas Hobbes, Oxford, Clarendon Press, 1988, p. 11-41.
9 Hobbes, The Elements of Law, I, cap. 9, art. 21, ed. F. Tönnies, p. 47; trad. D.
Weber, Éléments de la loi naturelle et politique, Paris, Le livre de poche, 2003, p. 144-145,
trad. modificada: “A comparação da vida do homem com uma corrida, embora não
se sustente em todos os pontos, serve bem a nosso presente propósito. Podemos,
graças a ela, ao mesmo tempo ver e representar quase todas as paixões anteiriormen-
te mencionadas. Mas essa corrida devemos supor não ter outro objetivo nem outro
prêmio por recompense senão procurarmos ser os primeiros.”
Norma, moralidade e interpretação... - 211
rer fazer de Hobbes um defensor do sistema moral egoísta
na base de suas descrições quase-sociológicas é algo que não
faz justiça à profundeza de sua análise filosófica da noção de
bem. Ora, evidentemente é essa última, e não as primeiras,
que configura o modo como os filósofos, depois de Hobbes e
em grande parte por causa dele, compreenderam o problema
da justiça.
Seria preciso justificar a distinção que acabamos de fazer
por meio de uma leitura comparativa dos textos de Hobbes
e em particular dos Elementos da Lei, do Leviatã e do De Cor-
pore, textos nos quais é analisada a relação entre o desejo dos
indivíduos, seu “momento vital” e o prazer e a dor que eles
sentem. Por não poder realizar aqui essa análise, apoiar-me-ei
sobre os resultados do estudo realizado sobre o tema por F. S.
McNeilly16. Partindo da hipótese geral segundo a qual uma
interpretação correta do Leviatã deve levar em conta a diferen-
ça que o separa dos dois tratados que acabamos de citar, esse
comentador sublinha que a grande diferença toca em particu-
lar a questão dos fundamentos morais da teoria17. Enquanto
os dois primeiros tratados fundariam suas análises em uma
concepção egoísta, o Leviatã ultrapassaria esse defeito inicial.
Além da caracterização sociológica, que concerne mais
à categoria de individualismo do que àquela do egoísmo, é
preciso conceder um lugar para uma teoria moral egoísta que
constitui não uma descrição de certos comportamentos hu-
manos, mas uma teoria da motivação dos agentes humanos e
mais precisamente uma teoria do modo como os agentes hie-
rarquizam suas preferências. Nessa perspectiva, o egoísmo
é uma teoria que considera ser sempre racional privilegiar a
escolha que melhora a posição do próprio agente em detri-
mento daquelas que são suscetíveis de melhorar a situação de
outrem. McNeilly sublinha, ademais, que existe uma variante
10 F.S. McNeilly, The Anatomy of Leviathan, London, MacMillan, 1968.
17 F.S. McNeilly, The Anatomy of Leviathan, p. 4: “[…] perhaps the most im-
portant clue to the understanding of Leviathan is the difference between it and The
Elements and De Cive.”
212 - Norma, moralidade e interpretação...
dessa teoria que ele chama de egoísmo hedonista a qual con-
sidera que a razão da escolha em favor de uma preferência
reside sempre no prazer ou na dor18. Ora, é precisamente essa
variante que McNeilly considera estar operante nos Elemen-
tos da Lei e no De Corpore e que, segundo ele, está ausente no
Leviatã. No De Corpore, a hipótese do egoísmo hedonista en-
contra sua justificação no funcionamento do corpo humano
– e isso faz sua força19 – já que aparentemente não é possível
desejar algo que não aumente nosso prazer, ou seja, se isso
não fornece ajuda ao nosso movimento vital e, em particular,
à circulação de nosso sangue20. A tese dos Elementos da Lei
não é, segundo McNeilly, tão clara quanto a do De Corpore.
Nos Elementos, o método é diferente, já que Hobbes apóia-se
em definições. Sendo assim, a hipótese segundo a qual os ho-
mens buscam sempre a escolha que lhes garanta o maior pra-
zer não se encontra fundada em bases científicas, como era o
caso para o De Corpore. A ausência de uma tal fundamentação
torna a hipótese bastante fraca.
A verdadeira ruptura surge, segundo McNeilly, com o Le-
viatã que propõe uma análise “neutra” do prazer e do desejo, a
saber, uma análise na qual a noção de desejo não está subordi-
nada a um objetivo definido em termos de prazer ou de dor21.
Ademais, o vínculo físico entre desejo e prazer é apresentado
de um modo que não implica que o prazer seja o objetivo,
ainda mais o objetivo único, do desejo: “Esse movimento, que
se chama apetite, e, quanto a sua manifestação, voluptuosida-
de e prazer, apresenta-se como reforçando e auxiliando o mo-
18 Ibid., p. 100 : “It [i.e. o egoísmo hedonista] holds, with egoism, that choice
is always with a view to bringing about some state of the agent which he prefers ; and
it adds that the preference is always for a more, rather than a less, pleasurable state.”
19 Ibid., p. 110 : “The theory of De Corpore, then, is an example of the strong-
est possible variety of egoistic hedonism.”
20 Ibid., p. 110 : “The adoption of the hypothesis commits Hobbes to the po-
sition of egoistic hedonism, because it states that what a person always desires is
pleasure, or the avoidance of pain, for himself.”
21 Ibid., p. 114 : “Now nothing whatever is said or assumed by Hobbes about
the nature of the objectives of human endeavours. Specifically, he does not say that
what one desires is always some (present or expected) pleasure.”
Norma, moralidade e interpretação... - 213
vimento vital”22. McNeilly considera essa formulação como
minimalista, e seria difícil contestar isso. Ele acrescenta ainda
que o fato do prazer ser dito “ajudar” (“help”) o movimen-
to vital não equivale a dizer que os homens procuram, como
que naturalmente, essa ajuda23. Trata-se aqui de uma suposi-
ção que, ademais, não abona as conclusões da teoria moral. O
importante, ao contrário, é que “nenhuma hipótese acerca da
natureza dos objetivos dos desejos – seja ela de tipo egoísta ou
qualquer outro – não é incorporada, pressuposta ou implica-
da pela análise”24.
Essa passagem pela análise de McNeilly corrobora os re-
sultados da primeira parte de nossa reflexão e confirma que a
virada subjetivista que se opera na filosofia moral de Hobbes
não implica de forma alguma a adesão à tese egoísta25. Se os
Elementos da Lei e o De Corpore levam água para o moinho da
teoria egoísta, o Leviatã deixa evidente que os verdadeiros tra-
ços do pensamento moral de Hobbes situam-se no plano de
uma teoria moral que ultrapassa em muito os elementos de
uma teoria egoísta.
As leis da natureza, a justiça e o bem
A segunda dificuldade que devemos examinar provém do
modelo no interior do qual Hobbes desenvolve a sua filosofia
moral: sua definição inovadora da justiça concebida como o res-
peito aos acordos passados, inscreve-se no quadro tradicional
de uma teoria acerca da lei natural. De fato, Hobbes reivindica
claramente sua filiação à tradição da lei natural, como o prova
sua definição de justiça fornecida no capítulo XV do Leviatã
22 Leviatã, VI, 33, p. 40/p. 50.
23 F.S. McNeilly, The Anatomy of Leviathan, p. 116: “[…] although Hobbes
says that this motion, the appearance of which is called pleasure, seems to be a “help”
to vital motion, he does not say that we seek such help. The connexion between vital
motion and pleasure and desire, indeed, is offered as a speculation […]”.
24 Ibid., p. 117.
25 Ibid., p. 120: “[…] subjectivism and egoism are obviously not the same
thing. To say that the use of “good” and “bad” is to express the speaker’s desires is
not to say anything at all about the objects of these desires.”
214 - Norma, moralidade e interpretação...
- “Que os homens cumpram seus acordos, uma vez que eles
foram estabelecidos”26 – apresentada como “a fonte e a origem
da justiça” (“the Fountain and Originall of Justice”) e uma lei de
natureza (law of Nature)27. Isso é igualmente confirmado pelo
fato de que Hobbes afirma que “a ciência dessas leis [ou seja,
das leis da natureza] é a verdadeira e a única filosofia moral”28.
Nos limites da discussão atual acerca da teoria moral de Hob-
bes, eu não destacarei, como o fizeram outros comentaristas29,
a importância da conservação de si, mas a nova definição do
bem, a qual me parece um elemento central na inscrição da teo-
ria da justiça no âmbito da teoria moderna das leis da natureza.
Se os homens não mais dispõem de um critério objetivo
de bem para orientar suas ações, então como é possível que
eles concordem sobre o que são as leis morais e a justiça? As
teorias clássicas da lei natural podem deduzir uma concepção
substancial da justiça de uma concepção objetiva do bem –
por exemplo, uma concepção superior da vida boa -, mas essa
possibilidade não mais se apresenta para Hobbes e seus su-
cessores. A razão disso não é principalmente teológica, como
alguns pensaram, fazendo do ateismo a fonte da transforma-
ção do mundo moral, mas antes filosófica, desde que se pense
essa filosofia em relação estreita com a concepção moderna de
ciência. Se Deus não mais nos permite conhecer o bem e orien-
tar nossas vidas por ele, isso não se deve principalmente ao
fato de não haver mais Deus na era da ciência, mas por que,
mesmo se houver um Deus, o que é bom para Deus é agora
pensado, como ocorre com qualquer outro bem, por relação
aquele que deseja e não nele mesmo. Trata-se de um bem que
é, como os demais, determinado pelo desejo do sujeito.
26 Leviatã, XV, 1, p. 100/ p. 143.
27 Ibid.
28 Leviathan, XV, antepenúltimo parágrafo, p. 110/p. 167
29 “Yet other thinkers [i.e., other than Aristotle and Aquinas], Hobbes and
Hume among them, have been willing to lower their sights: they have seen in the
modest aim of survival the central indisputable element which gives empirical good
sense to the terminology of Natural Law.” (H. Hart, The Concept of Law, 2a ed., Oxford,
Oxford University Press, p. 191)
Norma, moralidade e interpretação... - 215
Vemos, portanto, que o problema de Hobbes não é, como
o ensina a vulgata hobbesiana, somente o de deduzir as leis
da natureza e, em particular, a lei da justiça no contexto pi-
toresco do estado de natureza, mas o de colocar o problema
da justiça na perspectiva de uma nova teoria do bem. Essa
orientação da teoria é perfeitamente resumida no penúltimo
parágrafo do capítulo XV do Leviatã que será preciso citar
mais detidamente:
A ciência dessas leis [i.e., das leis de natureza] é a verda-
deira e única filosofia moral. Com efeito, a filosofia moral
não é senão a ciência do que é bom e mau no consórcio
e na sociedade dos homens. Bom e mau são nomes que
exprimem nossos apetites e aversões, os quais diferem
com os temperamentos, os costumes e as doutrinas das
gentes. E diferentes homens não diferem apenas a pro-
pósito das sensações proporcionadas pelo que agrada e
desgrada ao gosto, ao olfato, ao ouvido, ao tato e à vista,
mas também a propósito do que é conforme à razão ou
incompatível com ela nas ações da vida corrente. Mais, o
mesmo homem, tomado em diferentes momentos, difere
dele mesmo às vezes louvando, isso é, declarando bom
aquilo que, em outro momento, ele despreza e chama
mau. Daqui resultam discussões, disputas e, finalmente,
a guerra. Permanecemos, pois, em estado de simples na-
tureza, que é um estado de guerra, durante o período em
que o apetite pessoal é a medida do bem e do mal. Con-
sequentemente, todos concordam nesse ponto, a saber,
que a paz é boa e, portanto, tudo o que a ela conduz e é
um meio para tal, isso é, como mostrei acima, a justiça, a
gratidão, a modéstia, a equidade, a misericórdia, juntamente
com as demais leis de natureza, são coisas boas, ou seja,
virtudes morais, e seus contrários são vícios, isso é maus.
Ora, a ciência da virtude e do vício é a filosofia moral. A
verdadeira doutrina das leis de natureza é, pois, a verda-
deira filosofia moral.30
Dois pontos desse célebre texto merecerão nossa aten-
ção: primeiramente, o fato da definição subjetivista do bem
30 Leviathan, XV, antepenúltimo parágrafo, p. 110/p. 167.
216 - Norma, moralidade e interpretação...
ser uma definição englobante que não se reduz a uma única
percepção do bem, mas que envolve igualmente as diferentes
maneiras de concebê-lo – «E diferentes homens não diferem
apenas a propósito das sensações proporcionadas pelo que
agrada e desgrada ao gosto, ao olfato, ao ouvido, ao tato e
à vista, mas também a propósito do que é conforme à razão
ou incompatível com ela nas ações da vida corrente»31 . Em
segundo lugar, o fato de que essa definição implica uma nova
definição das leis da natureza - «Consequentemente, todos
concordam nesse ponto, a saber, que a paz é boa e, portanto,
tudo o que a ela conduz e é um meio para tal, isso é, como
mostrei acima, a justiça, a gratidão, a modéstia, a equidade, a mi-
sericórdia, juntamente com as demais leis de natureza, são coi-
sas boas, ou seja, virtudes morais, e seus contrários são vícios,
isso é maus» 32.
De acordo com essa perspectiva, a definição da justiça
como o respeito das convenções aparece não tanto como um
elemento estranho, mas como uma resposta à definição subje-
tivista de bem que não se deve compreender apenas, ou antes
de tudo, como uma definição egoísta, mas como uma defini-
ção ampliada em direção às preferências intelectuais, morais
e religiosas. A tese que buscamos caracterizar ao falarmos de
uma concepção “subjetivista” de bem implica diretamente
que não podemos mais aceitar a hegemonia de uma concep-
ção particular de bem que se imporia por suas qualidades ob-
jetivas. Com efeito, se o bem é aquilo que um agente desejante
concebe ou percebe como sendo “bom”, então segue-se que
diferentes agentes terão fortes chances de conceber ou de per-
ceber coisas distintas sob essa designação. Assim, a tese do
subjetivismo moral implica aquela outra do pluralismo das
31 Leviathan, XV, antepenúltimo parágrafo, p. 110: “And divers men, differ
not only in their judgement, on the senses of what is pleasant, and unpleasant to the
taste, smell, hearing, touch, and sight; but also of what is conformable, or disagree-
able to Reason, in the actions of common life.”
32 Ibid.: “And consequently all men agree on this, that Peace is Good, and
therefore also the way, or means of Peace, which (as I have shewed before) are Justice,
Gratitude, Modesty, Equity, Mercy, & the rest of the Laws of Nature, are good”.
Norma, moralidade e interpretação... - 217
concepções de bem. Como não mais existe uma concepção
hegemônica de bem – já que tal tese é condenada ao fracasso
em razão da pluralidade de pretensões concorrentes idênticas
– torna-se indispensável que os agentes morais concordem
minimamente acerca de certas regras que lhes permitirão viver
pacificamente. Como o pluralismo não diz respeito exclusiva-
mente aos gostos e às cores, mas ainda às doutrinas religio-
sas, filosóficas e morais, e que as divergências dessa natureza
podem conduzir a afrontamentos violentos, é importante en-
contrar arranjos políticos e morais que permitirão remediar,
ou melhor ainda, prevenir tais problemas. Essa é a função da
justiça na filosofia de Hobbes. A definição contratual significa
precisamente que, se não se colocarem de acordo acerca de
uma concepção comum de bem, os homens deverão ao menos
colocar-se de acordo sobre a forma de um acordo possível, ou
seja, sobre um modo de regulação de suas relações.
A primazia da justiça sobre o bem, a qual funda a cen-
tralidade do direito em nossos arranjos sociais, é assim uma
consequência direta da nova concepção subjetivista do bem
e do pluralismo dos valores que lhe é associado. Ademais,
por serem marcadas por um tal pluralismo, as leis de nature-
za mudam de sentido. Elas não estão mais a serviço de uma
concepção englobante do bem, mas constituem os princípios
metajurídicos de regulamentação da esfera do direito. É nesse
sentido que podemos dizer que a justiça e as demais leis da
natureza são concebidas por Hobbes como os princípios mo-
rais permitindo colocar em ação uma solução jurídica para o
problema moderno da pluralidade de concepções de bem.
O argumento do insensato e a prioridade
da justiça sobre o bem
Todo estudante de filosofia moral conhece a célebre obje-
ção feita ao sistema hobbesiano da moralidade e particular-
mente a sua teoria da justiça. O argumento do insensato que
218 - Norma, moralidade e interpretação...
“diz em seu coração que não existe a justiça”33 não é um argu-
mento recente ou uma crítica tardia dirigida a Hobbes por um
dos sucessores de Rawls. Trata-se antes da mais antiga crítica
que lhe foi feita, tão antiga quanto a versão inglesa do Leviatã.
Mas qual o argumento do insensato, esse bobo da corte da
filosofia moral moderna?
O insensato disse em seu coração : a justiça não existe.
Ele o diz, também de boca, alegando seriamente que, a
conservação e a satisfação de cada um estando entregue
a seu próprio cuidado, não poderia haver uma razão que
interdite cada um de fazer aquilo que, pensa ele, favoreça
esses fins.34
Este argumento põe radicalmente em questão a nova filo-
sofia moral atacando-a na sua raiz, a saber, na concepção de
bem que ela busca fundar. Se se diz, como o faz Hobbes, que
o bem é o produto do desejo de uma pessoa em particular,
então como podemos estar certos de que será sempre preferí-
vel para ela fazer prevalecer o ponto de vista da justiça sobre
aquele do bem que lhe é próprio? Se buscarmos lhe conceder
toda a sua força filosófica, será preciso reconhecer que a crí-
tica do insensato coloca em questão a prioridade da justiça
sobre o bem o qual está no princípio das teorias modernas da
justiça e, mais geralmente, a predominância de um sistema
jurídico qualquer sobre todas as concepções de bem. Acres-
centemos que a força dessa crítica reside no fato de que ela
ataca o fundamento da justiça não em nome de uma concep-
ção clássica, que poderíamos qualificar de objetiva, do bem,
mas em nome de uma interpretação radical da determinação
subjetivista do bem que tornou possível a nova teorização da
justiça. Levar a sério, como o faz o insenstato, a nova concep-
ção do bem, a saber, do bem considerado como aquilo que é
julgado “bom” por uma pessoa particular (a qual pode ser
33 Leviatã, XV, 4, p. 101/p. 144: “The Foole hath sayd in his heart, there is no
such thing as Justice”.
34 Ibid.
Norma, moralidade e interpretação... - 219
mesmo uma pessoa coletiva)35 remete à fragilidade da concep-
ção moderna de justiça, verdadeiro colosso teórico de pés de
argila. E a argila, se quisermos levar a metáfora mais longe, é
a dimensão subjetiva da concepção de bem. De fato, se a ver-
dade de uma concepção de bem reside exclusivamente no de-
sejo dos diferentes agentes, se não existe critério objetivo para
hierarquizar os diferentes projetos de vida que se inspiram
dos diferentes desejos, como poderíamos estar certos que será
sempre preferível respeitar aquilo que a justiça exige de nós e
não de seguir o que nos parece ser nosso bem – qualquer que
seja a forma que ele possa assumir? Em vez de nos incitar à
prudência e a conduzirmo-nos de modo a aceitar a mediação
da justiça, o caráter subjetivo de nossa concepção de bem nos
leva ao oposto disso, como o mostra o discurso do insensato.
Já que não possuímos relação com o bem a não ser por inter-
médio de nosso desejo e pensamento, é conveniente manter a
prioridade do bem sobre o justo e não levar em conta a plura-
lidade das concepções de bem. O insensato antecipa em certa
medida Max Stirner e sua afirmação de um individualismo
radical, mas ele o faz de um ponto de vista que põe em causa
a prioridade do justo a partir da tese que a sustenta, ou seja,
aquela acerca do caráter subjetivo da concepção moderna de
bem.
Não é necessário seguir mais adiante na resposta de Hob-
bes ao insensato para alcançar a natureza e a importância do
problema que ele deve resolver e que deverão resolver, após
Hobbes, todos os teóricos modernos da justiça. Ao decidir, de
modo unilateral, não respeitar seus acordos e não obedecer
as leis de seu grupo de “confederados”, o insensato decide
igualmente fazer prevalecer sua própria concepção de bem
35 “For these words of Good, Evill, and Contemptible, are ever used with
relation to the person that useth them: there being nothing simply and absolutely so;
nor any common Rule of Good and Evill, to be taken from the nature of the objects
themselves ; but from the Person of the man (where there is no Common-wealth;) or,
(in a Common-wealth,) from the Person that representeth it; or from an Arbitrator
or Judge, whom men disagreeing shall by consent set up, and make his sentence the
Rule thereof.” (Leviathan, VI, 6, p. 39)
220 - Norma, moralidade e interpretação...
sobre a justiça, mesmo que essa última seja a condição de so-
brevivência do grupo a que ele pertence. Uma tal idéia pode
às vezes ser expressa publicamente, já que o insensato afirma
“às vezes” “com sua boca” que não há justiça, mas isso ocorre
apenas como uma tese geral, como um manifesto individu-
alista provocador e não como uma decisão pessoal imedia-
tamente seguida de uma infração legal. Parece-me absoluta-
mente claro que a decisão de não respeitar as regras de justiça
não pode ser objeto de publicidade, pois raramente vemos,
e mesmo assim em circunstâncias muito particulares, um la-
drão anunciar publicamente seu próximo roubo.
O fato do segredo ser uma condição de sua ação mostra
claramente que o insensato não acredita realmente que sua
concepção de bem deva prevalecer publicamente sobre o justiça
do grupo. É evidente, e Hobbes o afirma explicitamente, que
o insensato reconhece que existem contratos e que a justiça
consiste em respeitá-los. As cláusulas e práticas secretas não
podem consistir em uma reposta à prioridade da justiça. Pa-
rafraseando o que Talleyrand dizia acerca da hipocrisia, elas
constituem antes a homenagem do vício à virtude, no caso, à
virtude da justiça. A refutação proposta por Hobbes do argu-
mento do insensato mostra, ao contrário, que se a justiça pode
pretender prevalecer sobre qualquer concepção de bem, isso
ocorre porque ela possui uma dimensão pública e compreen-
sível a todos, mesmo pelo insensato, e isso uma concepção
de bem não possui, mesmo quando ela aspira a universalida-
de. Trata-se aqui de uma prova suplementar contra a objeção
hegeliana feita ao liberalismo de Hobbes, a saber, que existe
uma dimensão pública da teoria hobbesiana da justiça, que
se manifesta igualmente - e mesmo principalmente - quan-
do a justiça trata das transações privadas entre particulares.
Com efeito, é no quadro das transações privadas que se tor-
na importante que as convicções morais dos contratantes não
venham a se opor ao fato de que um vínculo jurídico possa
existir entre eles.
Norma, moralidade e interpretação... - 221
Duas conclusões principais podem ser tiradas das análi-
ses precedentes. A primeira é que a maneira como Hobbes
aborda a questão da justiça depende de uma concepção subje-
tiva do bem que encontramos atualmente no coração da teoria
da justiça e, mais particularmente, no coração do liberalismo
político de Rawls, sobretudo através de seu corolário: o plu-
ralismo. A segunda conclusão é que, ainda que os filósofos
tenham querido excluir Hobbes da história da filosofia moral,
eles o fizeram pelas razões erradas e por confundirem os ní-
veis de sua análise. Eles parecem ter esquecido que Hobbes
havia compreendido perfeitamente bem que é difícil fundar
uma teoria moral da justiça quando não mais se dispõe de
uma teoria objetiva do bem. E que é precisamente a ausência
de uma tal teoria que torna indispensável o recurso ao direito.
Sendo assim, criticar Hobbes por ter ignorado a dimensão pú-
blica da justiça na base de sua concepção subjetivista de bem
equivale a cometer o maior dos contra-sensos que se possa
imaginar, pois é precisamente por ter profunda consciência
acerca do fundamento subjetivo das concepções de bem que
Hobbes pôde pensar o caráter necessariamente público da
justiça. Mas trata-se de um contra-senso que os teóricos da
justiça preferem cometer correndo o risco de tornar incompre-
ensível a razão pela qual foi necessário a Hobbes realizar sua
reflexão acerca da justiça. Ao dissociar subjetivismo e plura-
lismo, duas faces de uma mesma moeda, os teóricos da justiça
recusam ver o encadeamento lógico que Hobbes havia, desde
o início, compreendido, a saber, que o subjetivismo da con-
cepção de bem implica o pluralismo de valores, o qual requer,
por sua vez, o primado da justiça sobre o bem.
222 - Norma, moralidade e interpretação...
Notas sobre Direito, Política e
Religião em Kant1
Daniel Tourinho Peres
UFBA/CNPq
Quais são, para Kant, os limites do direito? Para encon-
trarmos uma resposta, comecemos pelo conceito de direito:
“O direito, escreve Kant, é o conjunto das condições sob as
quais o arbítrio de um pode conciliar-se com a liberdade de
outrem segundo uma lei universal” (VI, 230). Essa definição,
presente na Introdução à Doutrina do direito, se ela é aparente-
mente clara, é claramente insuficiente. Tudo depende de com-
preendermos o estatuto, e a extensão, dessa lei universal. Pois
não é o mesmo, e isso chega a ser trivial, aplicarmos o predica-
do universal a uma lei da natureza e a uma lei jurídica. Se, no
direito, dizemos lei universal por equívoco, que sentido há,
então, em falarmos em direito universal? A idéia de uma de-
claração universal dos direitos dos homens e dos cidadãos, se
foi uma bela idéia, não encontra nenhum fundamento maior
na razão, porquanto não se trata, de modo algum, de uma
idéia necessária, ao menos ao direito. Ao que então se poderia
acrescentar: se não encontra fundamento na razão, encontra
menos ainda na prática. O problema do direito, Kant afirma
1 Parte desse texto tenta responder as questões feitas por Alessandro Pin-
zani a dois trabalhos que apresentei: “Imagination and practical reason”, I Colóquio
Kant Trinacional Itália-Brasil-Portugal, realizado entre Verona e Padova em janeiro
de 2008, e Kant, Natureza Humana e os Limites da Ação, II Colóquio Kant Trinacio-
nal Itália-Brasil-Portugal, realizado em Lisboa, em setembro de 2009. Imagination and
Practical Reason está publicado em Kant e-prints. Trata-se de versão bastante reduzida
de “Imaginação e Razão Prática”, publicado em Analytica, Rio de Janeiro, V. 12, N 1,
2008, 99 a 130. Agradeço igualmente a Andrés Rosler, Alfredo Storck, Denílson Werle.
Com relação às citações, Kant é citado sempre pela edição da Academia, número do
volume e da página.
Norma, moralidade e interpretação... - 223
na Paz Perpétua, pode ser resolvido mesmo por um povo de
demônios.
Mas é verdade que um povo de demônios pode resolver o
problema do direito? Qual, exatamente, o problema do direi-
to? Essa passagem, na qual Kant alude a um povo de demô-
nios, meio que começa do seguinte modo:
A constituição republicana é a única que se encontra em
plena conformidade com o direito dos homens; porém,
ela também é a mais difícil de instituir (zu stiften) e a
mais difícil de conservar (zu erhalten), o que leva muitos
a afirmarem que, para tanto, seria necessário um povo
de anjos.
Para então ter o seguinte arremate:
O problema do estabelecimento do Estado (Staatserri-
chtung), por mais duro que soe, tem solução, inclusive
para um povo de demônios (contanto que tenham enten-
dimento), e formula-se assim: “Ordenar uma multidão
de seres racionais que, para a sua conservação, exigem
conjuntamente leis universais – às quais, porém, cada um
é inclinado, no seu interior, a eximir-se – e arranjar (einzu-
richten) a sua constituição de tal modo que esses, embora
opondo-se uns aos outros nas suas disposições privadas,
se contenham, no entanto, reciprocamente, de modo que
o resultado da sua conduta pública é o mesmo que se não
tivessem essas disposições más. (VIII, 366).
Não nos parece difícil ver que, por trás das imagens re-
tóricas de um povo de anjos e de um povo de demônios,
o que está em questão são duas teses: veritas, non auctoritas
facit legi, de um lado, e a sua contrária, auctoritas, non veritas
facit legi. Se é ou não uma antinomia, é questão que deixo de
lado, assim como deixo de lado, não por serem irrelevantes,
razões de ordem político-contextual, ligadas às discussões
sobre a Revolução Francesa e o Terror. Mas a oposição se dá
entre Rousseau e Hobbes, entre a soberania da lei ou a lei da
soberania.
A referência a um povo de demônios é uma clara referên-
224 - Norma, moralidade e interpretação...
cia à solução hobbesiana ao problema do direito, solução que
passa longe da afirmação de qualquer direito dos homens - a
não ser, talvez, o direito de conservação da própria vida, cuja
reivindicação, porém, já implica que o indivíduo não mais está
sob a proteção do soberano, mas encontra-se em conflito com
este, ou seja, em estado de natureza. Kant, porém, divide a
solução do problema em dois pontos: i) ordenar um povo sob
leis comuns e ii) arrumar sua constituição. O primeiro ponto
trata do estabelecimento do Estado, em cuja origem, mas não
em cujo fundamento, salvo melhor juízo, estariam razões de
ordem prudencial. Afinal, são seres racionais que vêm na le-
gislação comum a garantia de sua conservação. E um contrato
como esses até mesmo os demônios são capazes de celebrar,
uma vez que possuem entendimento, e portanto sabem julgar
onde está o seu melhor interesse. Não custa, porém, lembrar
que nem a força, nem a prudência, estão no fundamento do
direito.
Ao afirmar que demônios devem possuir ao menos en-
tendimento, Kant está, ao mesmo tempo, recusando-lhes a
possibilidade de possuírem razão prática pura, ou melhor,
consciência moral. E aqui, Hobbes, mais uma vez, foi o pri-
meiro a estabelecer uma clara distinção entre, de um lado, di-
reito e política, de outro, a consciência moral. A consciência
moral é consciência privada, em nada deve imiscuir-se no tra-
to da coisa pública. A separação entre moral e direito e clara.
Mas para levar a imagem ao extremo, é necessário reforçar
o ponto: demônios não são constituídos de qualquer consci-
ência moral, e não apenas vêem consciência moral reduzida
ao âmbito do privado. Nenhum liame social outro, a não ser:
do lado poder público, sua autoridade; do lado dos indiví-
duos privados, a possibilidade de, no Estado, sob a proteção
do Estado, cada um atualizar ao máximo aquilo que tem em
potência, i. e. enquanto interesse: diante do objeto, a capacidade
que possui de fruir do prazer, por um tempo duradouro. Se o
homem tal como o pensa Hobbes, em termos filosóficos, é ou
Norma, moralidade e interpretação... - 225
não o demônio kantiano, pode-se discutir. Por fim, observe-
mos que se anjos, demônios e homens são seres racionais, não
possuem, contudo, do ponto de vista da arquitetura de suas
faculdades, assim como de sua articulação e de determina-
ção recíproca, uma mesma racionalidade. O que é certo é que
homens e demônios compartilham pelo menos um ponto em
comum: ambos têm a necessidade de um senhor.
Quanto à origem do Estado, Kant é claro: a força. Força
que, bem entendido, vai ao encontro da idéia de direito. As-
sim, o direito não surge com o Estado, mas lhe é anterior. A
linguagem do direito é anterior à instituição do Estado, por-
que já presente, toda ela, na simples pretensão da posse de
algo. Quando afirmo isso “é meu”, seja linguisticamente, seja
por meio de uma ação, sou obrigado, por razões de ordem
metafísica, ou melhor, transcendental, a pensar a relação de
posse como inteligível, e, mais ainda, a passar do meu externo
ao meu interno, isto é, do direito sobre as coisas ao direito a
liberdade. Como Kant pensa o direito a propriedade: trata-se
menos de uma relação entre mim e a coisa, e sim de uma re-
lação entre mim e os demais virtuais possuidores, a propósito
do uso da coisa. Com Kant, os direitos subjetivos são, assim,
direitos inter omni subjectum, dimensão que não encontramos
com Hobbes. Mesmo com relação a Kant, certos interpretes
insistem em afirmar que é necessário aguardar a terceira críti-
ca para podermos falar em intersubjetividade, como se a coisa
já não estivesse lá desde a primeira Crítica, porque constituti-
va de sua teoria do juízo – só que não tematizada.
Essas diferenças implicam em pensar de um outro modo a
relação entre moral e direito, e portanto o limite entre ambos.
Com isso, entramos no segundo momento da passagem que,
por assim dizer, estamos analisando: arranjar (einzurichten) a
constituição segundo a característica de cada povo, de modo a
obter o melhor resultado público. Se a diferença estivesse ape-
nas entre homens e demônios, bom, o problema não seria tão
grave: a melhor constituição para os homens talvez não seja a
226 - Norma, moralidade e interpretação...
melhor constituição para um povo de demônios, e uma socie-
dade bem ordenada de demônios não é exatamente um lugar
onde eu gostaria de passar minhas férias, quem dirá minha
vida. Mas se pensamos uma certa relativização entre modelos
constitucionais e características de populações humanas, isso
não põe um problema ao universalismo kantiano? Kant, ao me-
nos, pensava que não. Ele foi, todos nós sabemos, um grande
“observador”, mesmo que de segunda mão, dos mais diferen-
tes povos. Suas notas de Antropologia estão cheias de referên-
cia a características desses povos, e não são poucas as vezes que
do registro antropológico passa-se ao registro político. A Revo-
lução Francesa – ou a independência americana, pouco impor-
ta no que esteja Kant a pensar - não é apenas conduzida por um
povo, mas por um povo cheio de espírito (geistreichen) (o que
nos leva a um outro problema, como veremos logo adiante).
Se olharmos o problema não do ângulo do estabelecimen-
to do Estado, mas da sua constituição, e retomamos a afirma-
ção com que é aberta a questão, a saber, “a constituição republi-
cana é a única plenamente conforme ao direito dos homens”,
vemos que o direito dos homens é afirmado como instância
meta-jurídica. Recht der Menschen, Naturrecht, ou Vernunftre-
cht, são três termos para falar de um mesmo: aquilo que não
pode ser afrontado por nenhuma constituição. Na Metafísica
dos Costumes Kant põe a seguinte questão: “é possível pen-
sarmos um sistema do direito composto apenas de leis positi-
vas”? Sua resposta é sim, e não poderia ser diferente: Hobbes
fez exatamente isso. A única exigência que Kant impõe para
tal sistema é: “de todo modo, deve haver ao menos uma lei
natural que autoriza o soberano”. Hobbes cumpre essa exi-
gência. Esse sistema do direito, porém, encontra-se aquém
dos limites da razão humana.
***
É no Conflito das Faculdades (VII, 85) que vemos a figura
de um povo cheio de espírito. Se podemos aplicar ao conceito
Norma, moralidade e interpretação... - 227
povo de anjos o conceito de uma comunidade ética (Etisches-
gemeinwesen), o mesmo vale para um povo cheio de espírito?
Uma comunidade ética conhece tão-somente princípios inter-
nos de determinação da vontade, ou seja, sua legislação é in-
terna, e isso em um duplo registro: tanto a lei, quanto o objeto
da lei, a intenção, são internos, assim como é interno o modo
da obrigação (Verpflichtungsart), que deve ser a simples idéia
do dever.
A legislação de tal comunidade ética encontra sua expres-
são na religião. Se, com a redução do direito ao direito posi-
tivo, e, portanto, com a transformação da política em simples
técnica, fica-se aquém da razão, com a indistinção entre ética
e direito, e, por consequência, com a transformação da polí-
tica em questão de virtude, de religião, vai-se além da razão.
Direito e religião devem estar ambos dentro dos limites da
simples razão.
Começo por analisar os termos da questão: como Kant es-
creve na Religião, “podemos chamar a união dos homens sob
leis de virtude, a partir da prescrição dessa idéia, sociedade ética,
e na medida em que essas leis são públicas, sociedade civil éti-
ca (por oposição à sociedade civil jurídica) ou ainda comunidade
ética” (VI, 94). O que é próprio de tal legislação está em que ela
não se vê associada à coerção (Zwang), à faculdade de coagir
(Zwangbefugniss). Mas a associação ou não da coerção permi-
te distinguir apenas entre legislação jurídica e legislação ética.
Não permite, porém, distinguir entre processos de interações
sociais universalizáveis segundo leis da liberdade e processos
que, mais exigentes, significam não apenas uma interação, mas
uma cooperação social no sentido da realização de fins que se
vêem unificados no conceito de bem soberano. É esse ponto
que está em questão na distinção entre comunidade ética e
sociedade ética: pois se ambas conhecem apenas leis internas
como seu princípio de determinação (Bestimmunsgrund), na
primeira, porém, diferentemente, as leis são públicas quanto à
razão do seu reconhecimento (Erkenntnissgrund).
228 - Norma, moralidade e interpretação...
Esse segundo momento é próprio da faculdade de julgar
reflexionante. Em seu movimento, ela parte da legislação ao
ideal que ela representa: “porque os deveres de virtude con-
cernem toda a humanidade, o conceito (Begriff) de uma comu-
nidade ética é vinculado ao ideal do todo dos homens” (VI,
96). É a intencionalidade mesma do conceito de dever, no seu
sentido mais amplo, que guia a reflexão do sensível ao inteli-
gível2 e dá, assim, realidade objetiva aos conceitos práticos.
A referência ao ideal implica, porém, que no juízo prático se
pense a relação entre o conceito e sua extensão de modo di-
verso daquele pensado para o juízo teórico:
É por isso que uma multiplicidade de homens unidos
nessa intenção não pode já chamar-se, ela mesma, comu-
nidade ética, mas apenas uma sociedade particular que
tende à unanimidade (Einhelligkeit) de todos os homens
(e mesmo de todos os seres racionais) para a edificação
de um todo ético absoluto, do qual cada sociedade parti-
cular é apenas a representação ou esquema. (VI, 96)
O ideal aqui é, sem dúvida, muito mais exigente que aque-
le de uma comunidade jurídica. Mas em que sentido um ideal
pode ser mais exigente que outro? Apenas no seguinte sentido:
no domínio jurídico, tudo o que se pode exigir é a simples con-
formidade externa das ações à lei, ao passo que, no domínio da
virtude, se exige ainda que a lei seja princípio interno de deter-
minação da vontade. Nesse registro, porém, não se está mais no
registro do ideal, mas do conceito, ou melhor, da idéia.
Na Religião, e é isso que nem a Fundamentação nem a Crí-
tica da Razão Prática deixavam entrever, a legislação moral,
interna, de algum modo deve se institucionalizar, isto é, se
tornar pública sem perder, porém, seu caráter interno, com o
que se confundiria com a legislação jurídica. Ora, a comuni-
dade ética encontra na Igreja sua face institucional. Enquan-
to instituição, ela fornece à razão prática um ponto na qual
essa pode instalar-se em um plano de imanência. Mas é tam-
1 Dierksmeir, Claus. Das Noumenon Religion, Berlin, De Gruyter, 1998, 43.
Norma, moralidade e interpretação... - 229
bém enquanto instituição que ela, por outro lado, se mostra
transcendente ao limites da razão pura prática. Assim, temos
a igreja visível, resultado do processo histórico complexo de
socialização do homem, que se dá, também, com um embate
com a natureza; e uma igreja invisível, que faz abstração de
todo esse processo, na medida em que se apresenta como igreja
da humanidade como um todo. Entre ambas não há identi-
dade, mas apenas um processo lento de aproximação entre o
sensível e o inteligível. E uma Igreja, não importa qual, é tão
somente a institucionalização de um padrão cultural de valo-
res e fins socialmente compartilhados. Quando menos fecha-
do for esse padrão, quando mais apto a integrar sob si a idéia
de humanidade, mais próximo ele estará da igreja invisível.
A igreja visível só possui valor comparativo, isto é, na me-
dida em que apresenta mais ou menos, mas sempre de modo
precário, as determinações da igreja inteligível. E na medida
em que ela se constrói em torno de uma fé - que Kant chamará
de fé da igreja, a qual encontra seu fundamento apenas como
veículo da verdadeira e única fé, da razão, ou racional. Essa
ligação puramente inteligível, ao se buscar, para ela, uma base
real, o que se encontra à mão é a pura fé de igreja, a igreja
visível, com suas razões históricas e estatutos. Os estatutos,
porém, não são os simples textos, mas também o modo como
esses são lidos e compreendidos publicamente. O texto, então,
adquire uma função particular, porquanto é possível pensar
uma reforma na comunidade ética sem alterar-lhe, do texto,
uma vírgula que seja, de modo ele pode ser considerado sa-
grado na medida em que expõe, clarifica, as questões que exi-
gem uma solução, sem, contudo, as apresentar. Trata-se, ao
fim e ao cabe, de uma pauta que concerne a todos.
* * *
No caso da religião a reforma se dá em pensamento, pois a
legislação ética, que se vê então apresentada, não deve contar
com nenhum móbil externo que não a própria idéia de dever.
230 - Norma, moralidade e interpretação...
No caso do direito a questão é um pouco diversa, em especial
quando estamos no seu limite com a moral, isto é, no que con-
cerne aos direitos humanos. Na Paz Perpétua é possível lermos
a seguinte passagem:
Ora, como se avançou tanto no estabelecimento de uma
comunidade (mais ou menos estreita) entre os povos da
Terra que a violação do direito em um lugar se sente em
todos os outros, a idéia de um direito cosmopolita não é
nenhuma representação fantástica e extravagante do di-
reito, mas um complemento necessário de código não escrito,
tanto do direito político como do direito das gentes, num
direito público da humanidade em geral e, assim, um
complemento da paz perpétua, em cuja contínua apre-
sentação é possível encontrar-se só sob essa condição.
(VIII, 360)
À diferença da religião, no direito não basta uma reforma
em pensamento, ou melhor, é preciso que os resultados desta
estejam escritos em um novo texto. Nenhuma legislação po-
sitiva, porém, é capaz de determinar completamente a idéia
de direito - daí a necessidade, no interior do direito racional,
dum espaço de direito não escrito, isto é, que deixa em aberto
novas determinações. Mais ainda: o descompasso entre direi-
to positivo e idéia do direito é sentido. Quanto a isso, temos a
seguinte passagem da terceira Crítica:
Quando, sob um conceito, é colocada uma representa-
ção da imaginação que pertence à sua exposição (Dars-
tellung), mas que por si só dá tanto a pensar quanto
nunca se poderia coligir em um conceito determinado,
e, portanto, o próprio conceito é ampliado esteticamente
de modo ilimitado, então a faculdade da imaginação é
criadora e põe em movimento a faculdade das idéias in-
telectuais (a razão), a saber, leva-a a pensar por ocasião
de uma representação (o que, por certo, pertence ao con-
ceito do objeto) mais do que nela pode ser apreendido e
tornado [conceitualmente] claro. (V, 314)
Retornando, então, à questão de que partimos: quais são,
para Kant, os limites do direito? Os limites do direito são os
Norma, moralidade e interpretação... - 231
limites de nossa imaginação. Em um dos textos de filosofia
mais importantes do século XX Lukács escrevia o seguinte:
O marxismo ortodoxo não significa, pois, uma adesão
sem crítica aos resultados da pesquisa de Marx, não sig-
nifica uma “fé” numa ou outra tese, nem exegese de um
livro “sagrado”. A ortodoxia em matéria de marxismo
refere-se, pelo contrário, e exclusivamente, ao método3.
O proletariado reunia, então, as condições, sem perder
seu ponto de imanência, de transcender a sua particularida-
de e se apresentar como totalidade. A unidade entre teoria e
prática uma vez garantida, não se dava, porém, ao preço da
perda de potencial crítico-emancipatório da teoria? O retorno
a Kant, por si só, não garante nada. Pois a uma pretensa uni-
dade objetiva de nada adianta substituir uma unidade pura-
mente subjetiva, estética, tal como proposta pelos kantianos
neoconservadores Luc Ferry e Alain Renaut4. Também não é
o caso de reduzir o problema dos direitos humanos a uma
questão puramente moral, isto é, ética, e insistir, ainda, nes-
sa linguagem. Que muito do que hoje se conta como direitos
humanos tenha entrado na pauta política via moral, isto é, via
deveres e compromissos éticos, significa apenas que então se
trabalhava com um conceito de direito mais restrito do que
agora se está disposto a aceitar. Na verdade, toda a questão
está no seguinte: até que ponto o conceito de direito articula
uma concepção de justiça que responde, a um só tempo, as
exigências de imanência e de transcendência5? O movimento
de reflexão presente, por exemplo, em A Religião nos Limites da
Simples Razão talvez tenha sido muito rapidamente descarta-
do como reflexo fetichista. Mas afinal, onde está a ilusão?
2 Lukács, G. História e Consciência de Classe. Trad. Telma Costa, Rio de Ja-
neiro, Elfos, 1989, 15. Para História e Consciência de Classe ver Nobre, Marcos, Lukács e
os limites da reificação – um estudo de História e Consciência de Classe, São Paulo, Ed. 34,
2001.
3 Para Alain Renaut ver Kant aujourd’hui, Paris, Flammarion, 1997; para Luc
Ferry, Kant – uma leitura das três Críticas, trad. Karina Janini, São Paulo, Difel, 2009.
4 Ver, por exemplo, Nancy Fraser in Fraser, N. Honneth, A. Redistribution or
recognition – a political-philosophical exchange, New York, Verso, 2003, 210.
232 - Norma, moralidade e interpretação...
Tradição religiosa e tradução política:
sobre os deveres de cidadania na
esfera pública
Luiz Bernardo Leite Araujo
UERJ - CNPq
Minha intenção é dar continuidade às reflexões desen-
volvidas no colóquio anterior sobre o tema (cf. Araujo, 2006).
Naquela ocasião apresentei o alcance e os limites da razão pú-
blica em John Rawls, procurando situar seu ensaio “The Idea
of Public Reason Revisited” (1997) a partir de algumas revisões
importantes na concepção originalmente apresentada na obra
A Theory of Justice (1971), revisões que culminaram na publica-
ção de Political Liberalism (1993). A tarefa fundamental do pen-
samento rawlsiano em sua última fase é a da justificação de
uma concepção independente (freestanding) da justiça política
em sociedades pluralistas. A própria teoria da justiça como
equidade, em sua formulação original, não distinguia clara-
mente entre concepção política e doutrina abrangente, pos-
suindo elementos desta última sob a forma de uma concepção
filosófica e moral ampla projetada no domínio do político, o
que a tornava, de acordo com o filósofo estadunidense, in-
compatível com o pluralismo razoável, uma condição perma-
nente da cultura política pública de um regime democrático
constitucional. Com efeito, são diversas as passagens em que
Rawls menciona as características básicas de uma concepção
política da justiça, a saber: sua aplicação é restrita à estrutura bá-
sica da sociedade, sua formulação é independente de qualquer
doutrina religiosa, filosófica ou moral específica e sua elabora-
ção é baseada nas idéias políticas fundamentais implícitas na
cultura política pública de uma sociedade democrática e suas
Norma, moralidade e interpretação... - 233
tradições de interpretação da constituição e das leis básicas (cf.
Rawls, 1996: 223; 376).
Como se sabe, entretanto, Rawls nega peremptoriamente
que tal concepção corresponda a um mero compromisso estra-
tégico ou medida funcional de estabilidade social, rejeitando
que ela seja simplesmente um modus vivendi. Apresentando o
político em oposição ao metafísico e considerando o político
em sua função prática, Rawls entende a justiça como equida-
de não como uma concepção de justiça verdadeira, mas como
uma concepção política da justiça elaborada para funcionar
como base de um acordo público em sociedades democráticas,
cujos princípios, ideais e padrões, bem como suas correspon-
dentes instituições políticas, tornam-se objeto de um consenso
sobreposto (overlapping consensus) de doutrinas abrangentes ra-
zoáveis. Cabe, então, indagar: pode-se afirmar que as doutrinas
filosóficas, morais e religiosas não possuem influência norma-
tiva sobre a concepção política da justiça e, ao mesmo tempo,
defender que cada doutrina abrangente é levada a aceitar as
razões públicas da justiça a partir de seu próprio ponto de vis-
ta? Dada a centralidade para o liberalismo político que os ci-
dadãos afirmem ao mesmo tempo uma doutrina abrangente e
uma concepção política, cuja relação pode ser mal compreendi-
da, Rawls procura refutar três objeções erguidas contra a idéia
de razão pública, segundo as quais ela seria (a) restritiva, limi-
tando as considerações e os tópicos disponíveis para o debate
político; (b) estreita, evitando a questão da verdade em nome
do politicamente razoável; e (c) desnecessária, corroborando
a harmonia e a concórdia vigentes numa democracia consti-
tucional estabelecida (cf. Rawls, 1999: 164-175). O ingrediente
essencial na especificação da razão pública e do seu conteúdo é
o critério de reciprocidade, o qual submete as doutrinas abran-
gentes, seculares ou religiosas, à injunção de apresentar razões
políticas adequadas na discussão política pública.
Assim sendo, o principal desafio enfrentado pela idéia
de razão pública reside no traçado de fronteiras entre razões
234 - Norma, moralidade e interpretação...
públicas e não-públicas aceitáveis no processo de justificação
de princípios políticos em sociedades democráticas marcadas
pelo fato do pluralismo, quer dizer, da pluralidade de dou-
trinas abrangentes razoáveis, mas opostas e irreconciliáveis
entre si. O que se requer, portanto, é uma concepção de justiça
que se mova no domínio do político, sem pleitear para si o
predicado de verdade, mas que seja capaz de obter aprovação
por parte das doutrinas abrangentes razoáveis que convivem
numa sociedade democrática, uma vez que uma concepção
de justiça ancorada em idéias e premissas pertinentes a uma
doutrina abrangente particular está sujeita ao desacordo razo-
ável, carecendo de base moral compartilhada capaz de trans-
cender o pluralismo dos valores e prover uma sólida unidade
social sustentada pela concepção política da justiça. Ora, para
uma correta assimilação do modo de operacionalização da es-
tratégia rawlsiana, torna-se importante notar que o consenso
sobreposto consiste na aceitação, por cada doutrina abrangen-
te e de acordo com seu respectivo ponto de vista, de determi-
nados valores implícitos na cultura política pública de uma
sociedade democrática. Nesta ótica, o liberalismo político,
apesar de situado em um plano estritamente político, deve
haurir sua justificação em bases morais, pois uma concepção
independente das doutrinas abrangentes não pode coerente-
mente pretender ser independente da moralidade como um
todo. É o que Rawls denomina, em sua famosa réplica a Ha-
bermas, de estabilidade pelas razões corretas (right reasons),
as quais podem ser defendidas diante dos outros sem criticar
ou rejeitar seus engajamentos morais, religiosos e filosóficos
mais profundos (cf. Rawls, 1996: 385-395).
Daí a importância do último escrito de Rawls sobre a ra-
zão pública e seu papel crucial no problema da legitimidade
política, em relação ao qual destaquei o critério de reciproci-
dade como elemento principal. Segundo Rawls, os cidadãos,
quando engajados no processo de elaboração e justificação de
normas, devem propor razões coerentes com uma concepção
Norma, moralidade e interpretação... - 235
política razoável e, tanto quanto possível, evitar lançar pre-
tensões normativas próprias das doutrinas abrangentes, visto
que estas não podem fornecer uma base comum adequada
para um acordo voluntário entre cidadãos livres e iguais. Al-
cançado um certo consenso no interior da sociedade, e reve-
lando-se a concepção política da justiça como um bem dotado
de valor próprio, os cidadãos incorporam uma nova atitude
política que consiste em lançar razões capazes de obter o re-
conhecimento por parte dos demais cidadãos que não com-
partilham suas doutrinas abrangentes, organizando suas pre-
tensões de acordo com um núcleo básico presente nas várias
concepções políticas da justiça. Não se exige que os cidadãos,
ao ingressarem no fórum político público para discutir e deci-
dir assuntos de interesse da sociedade como um todo, deixem
para trás os valores que mais prezam e que constituem sua
identidade, mas sim que apresentem uma motivação moral
para agir em termos razoáveis, oferecendo razões para a ação
política que possam ser justificadas conforme a perspectiva
moral do outro. Neste sentido, o repúdio rawlsiano da im-
posição moral não implica impossibilidade de convergência
moral e nem impede a introdução de razões morais amplas na
esfera pública. Ao contrário, para Rawls, as teorias da justiça
que se sustentam apenas em razões prudenciais são políticas
in the wrong way, procurando derivar equivocadamente o ra-
zoável do racional, os quais representam idéias complementa-
res, porém vinculadas às distintas capacidades morais de um
senso de justiça e de uma concepção do bem (cf. Rawls, 1996:
48-54).
As restrições da razão pública incidem na avaliação do
que deve contar como argumento aceitável, tendo em vista
o fato do pluralismo e a suposição do caráter razoável dos
indivíduos, e por essa razão o acordo público está relaciona-
do com os valores políticos que convergem para uma con-
cepção política comum às doutrinas abrangentes razoáveis
e determinam as relações de um governo democrático com
236 - Norma, moralidade e interpretação...
seus cidadãos e destes entre si. Quando a concepção política
da justiça consegue eliminar todos os valores não-políticos e
recolher apenas os valores políticos, então é possível esperar
que as doutrinas abrangentes razoáveis, mas irreconciliáveis,
endossem essa concepção. É aqui que se introduz uma suges-
tiva e polêmica condição a fim de especificar a cultura política
pública, referente à sociedade política onde os cidadãos agem
como se fossem legisladores, em contraste com a cultura de
fundo (background culture), formada pelas diversas institui-
ções e associações da sociedade civil, como igrejas, universi-
dades, sociedades de eruditos e cientistas, grupos profissio-
nais, clubes, entre outras, cuja cultura é permeada por razões
não-públicas. Nas palavras de Rawls, “doutrinas abrangentes
razoáveis, religiosas ou não-religiosas, podem ser introduzi-
das na discussão política pública a qualquer tempo, contanto
que, na ocasião oportuna, sejam apresentadas razões políti-
cas adequadas - e não razões dadas unicamente por doutri-
nas abrangentes - que sejam suficientes para sustentar tudo
o que as doutrinas abrangentes introduzidas alegadamente
sustentam” (Rawls, 1999: 152). Ele enfatiza que “a introdução
de doutrinas religiosas e seculares na cultura política pública,
desde que a cláusula (proviso) seja cumprida, não altera a na-
tureza e o conteúdo da justificação na própria razão pública”,
que permanece adstrita a uma família de concepções políticas
razoáveis de justiça e não impõe “restrições ou exigências em
como as doutrinas religiosas ou seculares devem ser expres-
sas; tais doutrinas não precisam, por exemplo, ser logicamen-
te corretas por alguns padrões, abertas à apreciação racional
ou demonstráveis” (Rawls, 1999: 153). A rigor, o liberalismo
político não apenas não impede a introdução de razões am-
plas no fórum político público, como também admite que a
revelação recíproca de razões não-públicas contribui para o
aperfeiçoamento da discussão política e fortalece o ideal da
razão pública, na medida em que “o conhecimento mútuo pe-
los cidadãos de suas doutrinas religiosas e não-religiosas ex-
Norma, moralidade e interpretação... - 237
pressas na visão ampla da cultura política pública reconhece
que as raízes do compromisso democrático dos cidadãos com
as suas concepções políticas repousam nas suas respectivas
doutrinas abrangentes, religiosas e não-religiosas. Dessa ma-
neira, o compromisso dos cidadãos com o ideal democrático
da razão pública é fortalecido pelas razões corretas. Podemos
pensar nas doutrinas abrangentes razoáveis que sustentam
concepções políticas razoáveis de sociedade como a base so-
cial vital dessas concepções, conferindo-lhes força e vigor du-
radouros. Quando tais doutrinas aceitam a cláusula (proviso)
e só então entram no debate político, o compromisso com a
democracia constitucional é publicamente manifestado” (Ra-
wls, 1999: 153-154).
No âmbito da justificação política só importa mesmo que
as razões empenhadas sejam articuladas em torno de uma
concepção de justiça razoável que satisfaça o núcleo moral
mínimo exigido pelo liberalismo político, cujas seguintes ca-
racterísticas permitem atestar a razoabilidade da concepção
política: “Primeiro, uma lista de certos direitos, liberdades e
oportunidades básicos (como os que são familiares aos regi-
mes constitucionais); segundo, uma atribuição de prioridade
especial a esses direitos, liberdades e oportunidades, especial-
mente em relação às pretensões do bem geral e dos valores
perfeccionistas; e terceiro, medidas assegurando a todos os ci-
dadãos os meios adequados a quaisquer propósitos para faze-
rem uso eficaz das suas liberdades” (Rawls, 1999: 141). Neste
sentido, Rawls advoga que a justiça como equidade apresen-
ta-se como apenas uma dentre várias doutrinas razoáveis aco-
modadas pelo núcleo moral mínimo do liberalismo político,
dele afastando-se as doutrinas que buscam impor aos demais
participantes do discurso político uma normatividade abso-
luta num ambiente democrático em que o desacordo razoável
é considerado como parte permanente da cultura política pú-
blica, e não um mero infortúnio. O que está em jogo é o fato
de que princípios políticos, em virtude de seu caráter coerciti-
238 - Norma, moralidade e interpretação...
vo, devem ser justificados em termos que todos os envolvidos
possam aceitar, de acordo com suas respectivas perspectivas
morais razoáveis. Destarte, a controvertida independência
adotada pelo liberalismo político se resume à justificação do
poder político, sem desqualificar razões não-políticas para
o diálogo público e exigindo somente que a justificação de
princípios políticos seja realizada com base na ponderação de
valores políticos comuns à estrutura das concepções de justi-
ça razoáveis. A exigência que permanece a todo instante, na
interpretação rawlsiana da razão pública, consiste em tradu-
zir os argumentos morais, filosóficos e religiosos utilizados
no processo de justificação normativa para a linguagem do
político, igualmente acessível a todos os cidadãos.
Em minha intervenção anterior, a estratégia de tradução
política defendida por Rawls foi mencionada, mas não dis-
cutida. Contudo, apesar de assinalar razões positivas para a
introdução das doutrinas abrangentes na discussão política
pública, Rawls sujeita-se a inúmeras críticas derivadas da res-
salva de tradutibilidade, particularmente no que se refere às
razões religiosas (cf. Araujo, 2009). É claro que o ônus recai
também sobre razões seculares - expressas em termos de dou-
trinas morais ou filosóficas, as quais não se confundem com
a razão pública propriamente dita e os seus valores estrita-
mente políticos -, mas as cargas do juízo (burdens of judgment)
distribuídas simetricamente entre os membros de uma socie-
dade democrática parecem onerar sobremaneira os cidadãos
religiosos. De fato, o próprio Rawls em suas reflexões sobre
religião e razão pública na democracia levanta essa intrigante
questão: “Como é possível para cidadãos de fé serem mem-
bros dedicados de uma sociedade democrática, que endossam
os ideais e os valores políticos intrínsecos da sociedade e não
simplesmente aquiescem ao equilíbrio das forças políticas e
sociais?”. O problema é formulado com maior nitidez da se-
guinte forma: “Como é possível - se é que é possível - que os
fiéis, assim como os não-religiosos (seculares), endossem um
Norma, moralidade e interpretação... - 239
regime constitucional mesmo quando suas doutrinas abran-
gentes podem não prosperar nele e podem, inclusive, decli-
nar?” (Rawls, 1999: 149). Trata-se do problema da delimitação
entre tipos de razões que possam assegurar uma estabilidade
de nível superior, e não a mera aceitação de um modus viven-
di entre doutrinas abrangentes rivais. Rawls chega mesmo a
afirmar que os conflitos entre religião e democracia no mundo
contemporâneo suscitam a questão torturante de saber se a
democracia e as doutrinas abrangentes podem ser compatí-
veis e como o podem. Para respondê-la, como vimos, ele faz
a distinção entre concepção política e doutrinas abrangentes,
sustentando uma separação clara entre as razões não-públicas
das últimas e a razão pública da primeira, da qual decorre não
apenas a neutralidade do poder político em face das doutrinas
abrangentes razoáveis, mas também a injunção restritiva do
uso público da razão pelos cidadãos, cujas doutrinas filosófi-
cas, morais e religiosas são contidas nos limites de princípios
políticos razoáveis que permitem mitigar conflitos potenciais
entre as doutrinas abrangentes, notadamente entre a religião
e a ordem democrática constitucional e entre as próprias dou-
trinas religiosas.
Ora, até que ponto é admissível a imposição de tradutibi-
lidade adotada por Rawls à luz de uma cláusula que prescreve
a apresentação pública de razões estritamente políticas, ainda
que no momento oportuno, pelas doutrinas abrangentes razo-
áveis? Como essa estratégia de tradução política de uma justi-
ficação fundada em razões não-políticas poderia ser aplicada
corretamente? No que concerne especificamente às doutrinas
religiosas, uma tal injunção não traria uma carga suplementar
aos cidadãos religiosos, tanto no aspecto identitário quanto no
aspecto cognitivo? (cf. Audi, 2000; Audi and Wolterstorff, 1997;
Dombrowski, 2001; Eberle, 2002; Greenawalt, 1988; 1995; Norris
and Inglehart, 2004; Perry, 2003; Rosemblum, 2000; Weithman,
1997; 2002; Wolterstorff, 2007). Refiro-me aqui ao fato apontado
por alguns autores de que determinadas concepções de justiça
240 - Norma, moralidade e interpretação...
se revelam incapazes de traduzir suas pretensões morais am-
plas para a linguagem do político. Será que um argumento reli-
gioso, baseado na autoridade de um livro sagrado ou na figura
exemplar de uma tradição religiosa, consegue articular numa
linguagem política os valores determinantes da crença que sus-
tenta o argumento? Se a resposta é negativa, o pensamento po-
lítico da doutrina religiosa em questão está desqualificado para
a discussão pública. Todavia, aqueles que porventura elencam
seus compromissos morais e religiosos acima dos valores políti-
cos de um regime democrático e justificam suas ações políticas
exclusivamente a partir de uma doutrina abrangente, porém
demonstram apreço pelos princípios constitucionais e respei-
to pelas convicções dos demais cidadãos, podem ser rotulados
como pessoas irrazoáveis que pretendem impor sua verdade
inteira no plano político? A expectativa de razoabilidade dos
cidadãos religiosos depende efetivamente da tradução política
de suas crenças básicas, a ponto de submetê-los a uma radical
partição entre uma identidade religiosa (não-pública) e uma
identidade política (pública)? Não ocorre uma distribuição
assimétrica dos deveres de cidadania entre cidadãos crentes
e seculares quando irrompe um conflito de valores, uns ditos
políticos e outros não-políticos, na esfera pública secularizada
de uma sociedade democrática pluralista? Eis aí algumas ques-
tões que despertam vivo interesse da filosofia política desde a
virada do milênio (cf. Boettcher and Harmon, 2009; Rosenfeld,
2009) - a chamada questão da “religião na esfera pública” ou
ainda a questão dominante sobre “razão pública e religião”,
motivada pela obra rawlsiana e suas reflexões em torno da le-
gitimidade política e de uma ética da cidadania -, particular-
mente de Jurgen Habermas em decorrência da importância por
ele atribuída ao tema da razão pública do liberalismo político.
A meu ver, o estado da arte é amplamente definido pe-
los termos com os quais Habermas retoma o tema da razão
pública, que ocupou lugar privilegiado em seu famoso inter-
câmbio com Rawls na década passada (cf. Habermas, 1996),
Norma, moralidade e interpretação... - 241
termos que não apenas assinalam novas respostas às objeções
que pretendem demonstrar a natureza autocontraditória do
conceito rawlsiano de igualdade política, mas também pare-
cem configurar uma reviravolta ainda não suficientemente
explorada das bases pós-metafísicas de seu pensamento (cf.
Habermas, 2001a; 2001b; 2002; 2004; 2005). No que respeita à
teoria do discurso, o principal desafio enfrentado pela idéia
de razão pública reside na conjugação do ideal igualitário da
cidadania democrática com as demandas legítimas de indiví-
duos e grupos, religiosos e não-religiosos, sem abrir mão de
uma concepção política congruente com o pensamento pós-
metafísico, cujo agnosticismo em face da verdade das cren-
ças religiosas e cuja perspectiva intramundana são nuança-
dos devido à força inspiradora dos potenciais semânticos das
tradições religiosas para a deliberação pública. Ora, adotando
uma concepção universalista sensível às diferenças, vincula-
da à tese da relação interna, portanto não contingente, entre
democracia e Estado constitucional (cf. Habermas, 1992), o fi-
lósofo alemão promove a defesa da razão pública mediante
uma abordagem peculiar situada entre o liberalismo cego e
o multiculturalismo forte no debate sobre direitos culturais
(cf. Barry, 2001; Kymlicka, 1995; 2001; Taylor, 1994), bem como
entre naturalismo e religião no tema clássico da relação entre
fé e saber.
A crítica que pretende demonstrar a natureza autocontra-
ditória do conceito de igualdade política, que inevitavelmente
fracassaria perante a relação paradoxal entre tratamento igual
para todos e realização da justiça em casos individuais por
causa da necessária marginalização das concepções de bem-
viver que não compartilham a visão substantiva e particular
da vida correta expressa no próprio princípio da igual liber-
dade, remete à questão da neutralidade de uma ordem polí-
tica justa em relação às doutrinas abrangentes, frente à qual
Rawls distingue ciosamente dois sentidos principais: o da
neutralidade de objetivo (aim) e o da neutralidade de efeito
242 - Norma, moralidade e interpretação...
(cf. Rawls, 1996: 190-195). A segunda é rejeitada por ser, além
de impraticável, simplesmente indesejável, pois implica que
os princípios políticos tenham a mesma influência sobre to-
dos os modos de vida permissíveis, ao passo que a primeira
é adotada pelo liberalismo político, não no sentido de que as
instituições políticas devam assegurar quaisquer concepções
da vida boa afirmadas pelos cidadãos, e sim no sentido de que
uma ordem política liberal não deve favorecer ou promover
nenhuma doutrina abrangente particular sujeita ao desacordo
razoável entre os membros da sociedade. Habermas aponta o
caráter seletivo da crítica à neutralidade de objetivo propug-
nada pelo liberalismo político, adotando uma interpretação
falibilista da razão prática que, consciente da incompletude e
da corrigibilidade das reivindicações ligadas ao princípio do
igual tratamento das pessoas, nem por isso está conceitual-
mente obrigada a admitir a inconsistência da idéia de igual-
dade cívica em razão de sua realização histórica parcial, como
se a falibilidade implicasse a supressão ou a relativização da
verdade reivindicada. Entretanto, a neutralidade de efeito
traz à tona o problema específico - estudado à parte por Ha-
bermas, e que toca diretamente nos limites da razão pública
- da exclusão das visões fundamentalistas de mundo e dos
grupos iliberais. Mas tal exclusão tampouco abala o princípio
da igualdade política, na medida em que os efeitos diferen-
ciados das normas justificadas imparcialmente sobre a auto-
compreensão ética e a forma de vida de cada cidadão, como
indivíduo e como membro de um grupo, devem ser tratados
não apenas na perspectiva da primeira pessoa que busca rea-
lizar seu projeto racional de vida, mas também na perspectiva
do participante envolvido na formação da opinião e da von-
tade política razoável, perspectivas que não encontram solu-
ção satisfatória em termos de simbiose, devendo ser mantidas
vinculadas de modo assimétrico por boas razões normativas,
como a consideração moral pelos outros e a reciprocidade da
co-legislação democrática (cf. Habermas, 2005: 313-323).
Norma, moralidade e interpretação... - 243
Habermas nota, porém, que a realização integral do sis-
tema de direitos parece exigir a implementação de direitos
culturais para os membros de grupos discriminados a fim
de corrigir efeitos assimétricos irrazoáveis das normas go-
vernadas pelo princípio da igualdade cívica. Ele se interessa
especialmente pelos casos em que o reconhecimento mútuo
da igualdade dos cidadãos é violado na dimensão vital do
pertencimento à mesma cultura política pública, requerendo
uma transformação das relações interpessoais com vistas à su-
peração de uma inclusão incompleta e desigual dos membros
da comunidade política. Eis a razão pela qual ele reconhece a
importância da distinção analítica entre as dimensões da jus-
tiça social - que “atinge as relações verticais entre cidadãos de
uma sociedade estratificada” - e do pertencimento - que “tem
a ver com relações horizontais entre membros da comunidade
política” -, ambas inerentes à noção de igualdade cívica, cuja
realização plena é medida, por um lado, pela justa distribui-
ção de oportunidades e recursos, e, por outro lado, segundo
o reconhecimento recíproco de direitos culturais (Habermas,
2005: 327). Emerge aqui a importante questão da equidade
dos processos de adaptação requeridos pela ordem liberal às
doutrinas abrangentes que não comungam de seu credo po-
lítico. Tendo rejeitado o argumento da autocontradição ine-
rente ao conceito de igualdade cívica baseado na realização
apenas parcial da neutralidade de objetivo, Habermas trata
do problema das restrições diferenciadas impostas às comu-
nidades e doutrinas tradicionais cujos valores e crenças bási-
cas não se encaixam integralmente no quadro político de uma
ordem jurídica talhada ao feitio do universalismo igualitário,
que promove a tolerância mútua como condição para a inte-
gração dos cidadãos numa cultura política democrática. Ora,
o sistema moderno de tolerância religiosa, cuja justificação
está vinculada em termos conceituais à democracia como base
de legitimação do Estado secularizado, representa um precur-
sor dos direitos culturais atualmente reivindicados, já que a
244 - Norma, moralidade e interpretação...
demanda cognitiva feita pelo Estado liberal às comunidades
religiosas é idêntica àquela endereçada às comunidades deno-
minadas “fortes”, tais como minorias étnicas, subculturas de
imigrantes e de povos autóctones, descendentes de escravos,
etc. (cf. Habermas, 2005: 299-300).
O desacordo razoável entre as doutrinas filosóficas, mo-
rais e religiosas, exatamente por estar fundado em boas razões
que remetem a pretensões de validade, tratando-se portanto
de um dissenso cognitivo aparentemente insolúvel, demonstra
que a tolerância representa uma solução política engenhosa,
solução que não implica a necessária dissolução de comuni-
dades e doutrinas tradicionais, sendo inclusive a condição de
possibilidade para uma coexistência razoável entre elas, isto
é, baseada numa cultura política comum que preserva suas
convicções e práticas. Não apenas as normas, mas também as
restrições assimétricas delas decorrentes, fundadas em right
reasons, são uma expressão do princípio de igualdade cívica
que norteia o uso público da razão. Para Habermas, contudo,
embora as exigências sejam idênticas, os recursos conceituais
não são os mesmos, especialmente quando uma determinada
cultura está entrelaçada com uma doutrina abrangente reli-
giosa, para a qual o requisito institucional da separação en-
tre religião e política não pode ser transformado num fardo
adicional indevido que exigiria a partição da identidade num
aspecto público e noutro privado, obrigando cada indivíduo,
na condição de membro da comunidade política, a expressar e
a justificar suas convicções e crenças apenas numa linguagem
secularizada. Trata-se aqui, para recordar, da possível estrei-
teza da estratégia de tradutibilidade defendida por Rawls, a
qual, se de modo algum impede a introdução de doutrinas
abrangentes na discussão política, impõe a cláusula que con-
siste em traduzir argumentos não-públicos para a linguagem
política, em vez de apresentar razões dadas unicamente por
doutrinas abrangentes. Ora, tal assimetria impõe custos de-
sigualmente distribuídos entre os cidadãos em consequên-
Norma, moralidade e interpretação... - 245
cia dos efeitos não-neutros da tolerância, razão pela qual a
ética da cidadania, que se define pelas condições simétricas
de participação numa prática comum de autodeterminação
democrática, exige atitudes epistêmicas mediante as quais
as dissonâncias cognitivas sejam tratadas, aos olhos de Ha-
bermas, como desacordos razoáveis entre todas as partes en-
volvidas em “processos de aprendizagem complementares”
(Habermas, 2005: 158), de tal modo que os cidadãos seculares
assumam as pressões adaptativas não menos custosas de ha-
bitarem um mundo pós-secular, e não apenas pós-metafísico.
A posição de Habermas em torno do significado e do papel da
religião na esfera pública, embora mantida a exigência de se-
cularização do poder estatal pelo princípio da igualdade cívica,
é que esse mesmo princípio proíbe “a supergeneralização po-
lítica de uma visão de mundo secularista. À proporção que ci-
dadãos secularizados assumem o seu papel de cidadãos de um
Estado, não podem negar que as imagens de mundo religiosas
possuem, em princípio, um potencial de verdade nem contes-
tar o direito dos co-cidadãos religiosos de apresentarem con-
tribuições a discussões políticas lançando mão da linguagem
religiosa. Uma cultura política liberal pode, inclusive, esperar
que os cidadãos secularizados participem de esforços visando
a tradução de contribuições relevantes para uma linguagem
acessível publicamente” (Habermas, 2005: 346). A passagem
reúne todo um programa de investigação sobre a idéia de ra-
zão pública, suas potencialidades e impasses, com base numa
abertura à dupla expectativa da inclusão de razões religiosas
no debate político e da decodificação do potencial semântico
das doutrinas religiosas no contexto de sociedades democráti-
cas pluralistas que, por assim dizer, adaptaram-se à persistên-
cia das comunidades religiosas num ambiente secularizado.
O pensamento pós-metafísico, para Habermas, deve ado-
tar uma atitude ao mesmo tempo agnóstica e receptiva diante
da religião, que não comprometa sua autocompreensão se-
cular. Neste sentido, ele desenvolve uma concepção do uso
246 - Norma, moralidade e interpretação...
público da razão cuja finalidade principal consiste em mediar
entre a interpretação restritiva do papel político da religião
e as propostas revisionistas que atingem os fundamentos do
Estado democrático de direito, propondo uma nova delimi-
tação de fronteiras não menos sujeita a várias indagações.
Com efeito, a despeito de sua oposição a uma determinação
estritamente secularista das razões publicamente aceitáveis,
Habermas não deixa de preservar uma nítida separação entre
a esfera pública informalmente organizada, a qual abrange as-
sociações privadas, instituições culturais, grupos de interesse
com preocupações públicas, igrejas, instituições de caridade,
e assim por diante, e a esfera pública formal dos parlamen-
tos e tribunais, do governo e da administração, estabelecendo
uma “reserva de tradução institucional” para além do limiar
que separa ambas as esferas, contando na última apenas ar-
gumentos seculares (cf. Habermas, 2005: 147-153). Tal solução
mediadora corre o risco de provocar insatisfação tanto dos de-
fensores de um ideal rígido de razão pública quanto daqueles
que tencionam implodir todas as fronteiras entre valores polí-
ticos e valores abrangentes das doutrinas morais, filosóficas e
religiosas na discussão política pública.
Que não paire dúvida, porém, quanto ao fato de que, ao
restringir a aplicação da cláusula restritiva ao quadro insti-
tucional, algo que se lhe afigura necessário para uma garan-
tia simétrica da liberdade de religião constitutiva do exercício
democrático do poder político, e, portanto, ao eliminar o cha-
mado dever de civilidade para os cidadãos ordinários - isto é,
aqueles que não são políticos com mandatos públicos e nem
são candidatos a eles, os quais estão obrigados a adotar uma
postura imparcial em face das doutrinas abrangentes -, a ética
da cidadania democrática em Habermas distingue-se da noção
rawlsiana de razão pública, cujo ideal é concretizado por todos
os cidadãos quando pensam em si mesmos como se fossem le-
gisladores e, assim, seguem os ditames do critério de recipro-
cidade (cf. Cooke, 2007; Lafont, 2007; Yates, 2007). A concepção
Norma, moralidade e interpretação... - 247
habermasiana de deliberação pública favorece uma participa-
ção mais inclusiva e dinâmica dos cidadãos, religiosos e não-
religiosos, nas controvérsias sobre temas políticos capitais,
admitindo exteriorizações religiosas não-traduzidas com base
em argumentos não apenas normativos, vinculados ao respeito
pela diversidade dos modos de vida, mas também funcionais,
em razão dos possíveis conteúdos de verdade do discurso re-
ligioso. O ponto é que a rejeição razoável do secularismo não
deve anular o caráter secular do Estado constitucional.
BIBLIOGRAFIA
ARAUJO, L. B. L. (2006): “A razoabilidade no domínio do político: notas so-
bre o pensamento rawlsiano”, in: PERES, D. T. (Org.). Justiça, Virtude e Demo-
cracia. Salvador: Quarteto, pp. 173-196.
— (2009): “Razão pública e pós-secularismo: apontamentos para o debate”.
Ethic@, v. 8, n. 3 (2009): 155-173.
AUDI, R. and WOLTERSTORFF, N. (eds.) (1997): Religion in the Public Square:
The Place of Religious Convictions in Political Debate. Lanham: Rowman & Lit-
tlefield.
AUDI, R. (2000): Religious Commitment and Secular Reason. Cambridge: Cam-
bridge University Press.
BARRY, B. (2001): Culture and Equality: An Egalitarian Critique of Multicultural-
ism. Cambridge (Mass.): Harvard University Press.
BOETTCHER, J. and HARMON, J. (2009): “Introduction: Religion and the
Public Sphere” (special issue). Philosophy and Social Criticism, 35: 5–22.
COOKE, M. (2007): “A Secular State for a Postsecular Society? Postmetaphys-
ical Political Theory and the Place of Religion”. Constellations, 14: 224-238.
DOMBROWSKI, D. (2001): Rawls and Religion: The Case for Political Liberalism.
Albany: State University of New York Press.
EBERLE, C. (2002): Religious Conviction in Liberal Politics. Cambridge: Cam-
bridge University Press.
GREENAWALT, K. (1988): Religious Convictions and Political Choice. Oxford:
Oxford University Press.
— (1995): Private Consciences and Public Reasons. Oxford: Oxford University Press.
248 - Norma, moralidade e interpretação...
HABERMAS, J. (1992): Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie
des Rechts und des democratischen Rechtsstaats. Frankfurt: Suhrkamp [Direito
e Democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro,
1997].
— (1996): Die Einbeziehung des Anderen. Studien zur politischen Theorie. Frank-
furt: Suhrkamp.
— (2001a): Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen
Eugenik? Frankfurt: Suhrkamp [O Futuro da Natureza Humana: a caminho de
uma eugenia liberal? São Paulo: Martins Fontes, 2004].
— (2001b): Zeit der Ubergänge. Kleine politische Schriften IX. Frankfurt:
Suhrkamp [Era das Transições. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003].
— (2002): Religion and Rationality: Essays on Reason, God, and Modernity (edited
by Eduardo Mendieta). Cambridge (Mass.): MIT Press.
— (2004): Der gespaltene Westen. Kleine politische Schriften X. Frankfurt:
Suhrkamp [O Ocidente Dividido. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2006].
— (2005): Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze. Frank-
furt: Suhrkamp [Entre Naturalismo e Religião: Estudos Filosóficos. Rio de Janeiro:
Tempo Brasileiro, 2007].
KYMLICKA, W. (1995): Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority
Rights. Oxford: Oxford University Press.
— (2001): Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism and Citizen-
ship. Oxford: Oxford University Press.
LAFONT, C. (2007): “Religion in the Public Sphere: Remarks on Habermas’s
Conception of Public Deliberation in Postsecular Societies”. Constellations,
14: 239-259.
NORRIS, P. and INGLEHART, R. (2004): Sacred and Secular: Religion and Poli-
tics Worldwide. Cambridge: Cambridge University Press.
PERRY, M. (2003): Under God? Religious Faith and Liberal Democracy. Cam-
bridge: Cambridge University Press.
RAWLS, J. (1971). A Theory of Justice. Oxford: Oxford University Press.
— (1996): Political Liberalism (paperback edition with a new introduction).
New York: Columbia University Press.
— (1999): The Law of Peoples; with “The Idea of Public Reason Revisited”. Cam-
bridge (Mass.): Harvard University Press.
Norma, moralidade e interpretação... - 249
ROSEMBLUM, N. (ed.) (2000): Obligations of Citizenship and Demands of Faith:
Religious Accommodation in Pluralist Democracies. Princeton: Princeton Univer-
sity Press.
ROSENFELD, M. (2009): “Introduction: Can Constitutionalism, Secularism
and Religion be Reconciled in an Era of Globalization and Religious Reviv-
al?” (special issue). Cardozo Law Review, 30: 2333-2368.
TAYLOR, C. (1994): “The Politics of Recognition”, in: GUTMANN, A. (ed.).
Multiculturalism and The Politics of Recognition. Princeton: Princeton Univer-
sity Press, pp. 25-73.
WEITHMAN, P. J. (ed.) (1997): Religion and Contemporary Liberalism. Notre
Dame: Notre Dame University Press.
WEITHMAN, P. J. (2002): Religion and the Obligations of Citizenship. Cam-
bridge: Cambridge University Press.
WOLTERSTORFF, N. (2007): Justice: Rights and Wrongs. Princeton: Princeton
University Press.
YATES, M. (2007): “Rawls and Habermas on Religion in the Public Sphere”.
Philosophy and Social Criticism, 33: 880-891.
250 - Norma, moralidade e interpretação...
O BEM DA ORDEM
O direito como condição da moral
em Tomás de Aquino
Luis Fernando Barzotto
UFRGS
Preliminares
As relações entre direito e moral podem ser pensadas
segundo dois modelos: no primeiro, a moral é fonte imedia-
ta de todas as obrigações sociais, sendo o direito algo ina-
dequado para a correta orientação da vida em sociedade.
Vamos chamar de “ética utópica” este modelo. No segundo
modelo, a moral depende essencialmente do direito, no sen-
tido de que é impossível agir bem sem a fiel observância do
direito. O segundo modelo será chamado de “ética política”,
e será aplicado na interpretação da doutrina de Tomás de
Aquino.
1. A ética utópica de Frei Junípero
Um dos escritos medievais mais significativos sobre a ori-
gem do movimento franciscano ficou conhecido como I fioretti
de S. Francisco de Assis”. Neste texto é narrada um episódio da
vida de um dos primeiros companheiros de Francisco de As-
sis, Frei Junípero. Este episódio nos servirá de ilustração para
o que nós chamamos de modelo utópico.
“Frei Junípero, visitando um frade enfermo, com muita
compaixão perguntou-lhe:
– Posso prestar-te algum serviço?
Respondeu o doente:
Norma, moralidade e interpretação... - 251
– Eu ficaria muito consolado se pudesse obter um pezi-
nho de porco.
Disse Frei Junípero:
– Eu o trarei sem demora.
Frei Junípero toma uma faca e vai pela floresta onde esta-
vam pastando certos porcos e, lançando-se atrás de um, corta-
lhe o pé e foge, deixando o porco com o pé cortado. Ele volta
e cozinha o pé com muita diligência e leva ao enfermo com
muita caridade. E o enfermo o come com muita avidez, para
grande alegria de Frei Junípero.
Por esse tempo, quem guardava os porcos e viu o frade
cortar o pé, referiu tudo ao seu senhor. Este foi ao convento
dos frades e chamou-os de ladrões e falsários.
S. Francisco manda chamar Frei Junípero. Este, interroga-
do sobre o fato, responde:
– Considerando a consolação que esse nosso irmão teve e
o conforto obtido com o dito pé, se eu tivesse cortado o pé a
cem porcos como fiz a um, creio certamente que Deus o teria
considerado um bem.
S. Francisco, com zelo de justiça disse:
– Frei Junípero, por que fizeste tão grande escândalo?
Não é sem razão que aquele homem está furioso contra nós.
Frei Junípero ficou admirado com as palavras de S. Fran-
cisco, assombrado de que por um ato tão caritativo alguém se
devesse perturbar, porque lhe parecia que as coisas temporais
só valem pelas relações caritativas que têm com o próximo. E
disse a S. Francisco:
–Por que devo me atormentar com isso, quando esse por-
co era antes de Deus do que do homem que o reclama e com
ele foi feito uma grande caridade?” 1
Este singelo episódio nos revela a essência da ética utópi-
ca. Ela fundamenta-se na tese de que a sociabilidade natural
do homem pode realizar-se na ausência de mediações institu-
1 I Fioretti de S. Francisco de Assis, pp.1237-1239. Suprimimos passagens do
texto, com a finalidade de sintetizá-lo.
252 - Norma, moralidade e interpretação...
cionais, isto é, à margem da política e do direito.
Para os utópicos, a sociabilidade humana é imediata. O
outro é sempre visto como próximo, nunca sendo considera-
do na condição de cidadão ou sujeito de direito, isto é, visto
a partir da sua condição de membro de uma comunidade po-
lítica. No exemplo de Junípero, este não consegue ver o outro
como proprietário. O ser humano, na sua relação com as coi-
sas e com outrem, não pode ser qualificado como proprietá-
rio, locador ou comprador, pois isto destruiria a solidariedade
humana natural, que exige que todos os bens sejam pensados
somente segundo as “relações caritativas que tem com o pró-
ximo”. Ser sujeito de direito é uma qualificação do homem
que o separa dos outros homens, é uma alienação.
Neste sentido, a ética utópica pode ser denominada um
“jusnaturalismo do fato bruto”. Características da nature-
za humana, como a sociabilidade ou da natureza das coisas,
como servir às necessidades humanas, geram de modo ime-
diato deveres morais. Aceitar a mediação da instituição é agir
de modo imoral, é negar a evidência das exigências da natu-
reza.
2. A ética política de Frei Tomás
2.1. A polis como mediação necessária à vida boa
A ética de Tomás de Aquino se articula de modo teleoló-
gico, isto é, a ação correta é aquela que leva o homem à reali-
zação de seu fim (telos). O telos do homem é a vida boa, o que
significa, o pleno desenvolvimento da natureza humana.
Mas, se “o homem é naturalmente um animal político”2
, o pleno desenvolvimento da natureza humana depende da
polis. A natureza do homem não se desenvolve naturalmen-
te, mas artificialmente. A pessoa deve assumir sua natureza
como tarefa, o que significa que o dado – a natureza – depen-
1 Comentário à Ética, VIII, 12, 1233
Norma, moralidade e interpretação... - 253
de do construído – a cidade. O acesso do homem à sua pró-
pria natureza só pode ocorrer por meio deste artefato humano
que é a cidade. É equivocado contrapor natureza (physis) e
convenção (nomos), como faziam os sofistas: para a pessoa, a
physis humana só se revela no nomos humano: “Em todos os
homens há certo ímpeto natural para a comunidade da cida-
de, como para as virtudes. Entretanto, assim como as virtudes
se adquirem por atividade humana (...), assim as cidades fo-
ram instituídas por criação humana. O que primeiro instituiu
as cidades foi para o homem causa dos mais altos bens. Por-
que o homem é o melhor dos animais se nele se aperfeiçoa a
virtude, para a qual possui natural inclinação. Mas, se vive
sem lei nem justiça, é o pior dos animais”3 Isto é, é somente
mediante a lei e justiça instituídos pela cidade que ele desen-
volverá sua natureza social e racional, adquirindo as virtudes.
Com efeito, “pelas leis da cidade a vida do homem se ordena
à virtude”.4 Sem a cidade, ele se tornará o pior dos animais
porque será o único a não atualizar a própria natureza, uma
vez que para os animais as condições de atualização da natu-
reza são naturais, isto é, nunca falham. Ao contrário, a pessoa
depende das condições artificiais geradas pela cidade – a lei e
a justiça, isto é, o direito, para alcançar sua identidade plena-
mente humana.
Aqui podemos observar porque a Ética a Nicômaco e a
Política foram pensadas por Aristóteles como duas partes de
uma única obra. A Ética a Nicômaco trata da vida boa, e a Polí-
tica das instituições que tornam possível ao homem alcançar a
vida boa. A política está em continuidade com a ética porque
a cidade e suas instituições são uma mediação necessária para
a vida boa.
No próximo tópico, o direito, como instituição da polis,
será apresentado como condição para a atualização da socia-
bilidade humana. O objetivo é demonstrar que o direito, em
Tomás de Aquino, é condição da vida boa para o homem, isto
2 Comentário à Política I, 1, 22.
3 Comentário à Política, I, 1, 17.
254 - Norma, moralidade e interpretação...
é, a moral pressupõe o direito. Utilizando uma fórmula po-
lêmica, podemos dizer que sob certo aspecto, em Tomás de
Aquino o justo (direito) precede o bem (moral).
2.2. O bem comum político
Quando se fala da natureza social do homem, se men-
ciona corretamente as carências humanas que só podem ser
satisfeitas em comunidade. Entre essas carências encontra-se
a necessidade de fazer o bem a outrem: “o homem é natural-
mente um animal político. Por isso, não basta que o seu de-
sejo seja satisfeito, mas que ele possa satisfazer os desejos dos
demais.”5
Vê-se como Tomás é anti-utópico: a inclinação natural
para realizar o bem de outrem é atualizada pelo homem como
animal político, isto é, ela demanda institucionalização. Se
a polis é a instituição que permite que o homem possa fazer o
bem aos demais, isso é possível porque ela impõe uma ordem
às ações humanas, de tal modo que ao agir em conformidade
com a ordem da comunidade, o direito, o cidadão tem a ga-
rantia de que sua ação contribuirá para o bem de todos.
Na medida em que a sociabilidade humana significa não
apenas receber o bem de outrem, mas fazer o bem a outrem,
a visão tipicamente moderna, de conceber a cidade apenas de
modo instrumental para o indivíduo isolado, não faz sentido.
Na verdade, é porque a cidade permite que as próprias ações
realizem o bem dos demais que ela faculta realizar a natureza
social do homem: do ponto de vista moral, o principal bem
que a cidade provê é a possibilidade de fazer o bem.
Aqui se vê a importância da cidade e do seu bem, o bem
comum político, para a ética. Como a ética está relacionada ao
bem e à hierarquia dos bens é crucial estabelecer qual é o bem
último que serve como critério supremo para o agente moral.
Ora, para Tomás, este bem é o bem comum político: “Assim
4 Comentário à Ética I, 9, 65.
Norma, moralidade e interpretação... - 255
como o homem é parte da família, a família é parte da comu-
nidade política, que é a comunidade perfeita (...). Portanto,
assim como o bem de um homem não é o fim último, mas que
está subordinado ao bem comum, assim o bem de uma famí-
lia está subordinado ao bem da comunidade política, que é a
comunidade perfeita”6.
Agir moralmente é buscar o bem, e o maior bem é o bem
comum político. Por isso, pode-se dizer que a vontade reta em
matéria moral é sempre política, isto é, o agente moral sempre
visa o bem da comunidade em sua ação: “não é reta a von-
tade de quem quer um bem particular e não o refere ao bem
comum como ao fim.”7
As razões para analisar a vida boa da pessoa à luz do bem
comum da comunidade política são duas, segundo Tomás:
“aquele que procura o bem comum da multidão, por via de
consequência, procura também seu próprio bem, por duas ra-
zões. A primeira, porque o próprio bem não pode subsistir
sem o bem comum da família, da cidade ou da pátria (...). A
segunda, porque, sendo o homem parte de uma casa e de uma
cidade, deve procurar o que é bom para ele pelo prudente
cuidado a respeito do bem da multidão, dado que a reta dis-
posição das partes depende de sua relação com o todo.”8
Na vida em sociedade, o agente moral procura seu bem no
bem comum. O bem comum é o fim imediato da ação, sendo o
bem da pessoa incluído nele. Por isso Tomás pode afirmar que
“o bem comum vem a ser o fim das pessoas particulares que
vivem em comunidade, como o bem do todo o é de cada uma
das partes.”9
Em Tomás, a experiência do bem ou experiência ética pos-
sui uma dimensão política, de modo que podemos dizer que
a distinção entre ética e política é analítica, e não existencial.
A vida boa ou a vida plenamente realizada, matéria da ética,
5 I-II, q. 90, a.3.
6 I-II, q. 19, a.10.
7 II-II, q. 47, a. 10
8 II-II, q. 58, a.9.
256 - Norma, moralidade e interpretação...
só pode ser pensada por referência ao bem comum, eixo da
política. Assim, a vida boa não pode ser visada como objetivo
a ser alcançado diretamente pelo o agente moral: a vida boa
de outrem é condição da vida boa para si, o que significa que
a realização de si e a realização dos demais membros da co-
munidade são coextensivas.
Em síntese: se a ética consiste na determinação do bem
para o homem, ela é definida pelo bem último a que se refe-
re. Para Tomás, no plano da natureza humana, este fim é o
bem comum político, e podemos chamar, portanto, sua ética
de “política”: “A comunidade política busca o bem principal
entre todos os bens humanos, pois tende ao bem comum que
é melhor e mais divino que o bem de um só”.10 É impossível
agir bem, buscar o bem ou realizar o bem sem a mediação do
bem comum político.
2.3. O bem da ordem
O bem comum político não pode ser alcançado sem o que
Tomás chama de “o bem da ordem”11. Ao contrário dos utó-
picos que imaginam uma organização espontânea, imediata,
das relações sociais, Tomás é categórico ao afirmar a necessi-
dade da ordem como mediação para o bem comum político.
Para Tomás, haveria necessidade de ordem, no sentido políti-
co do termo, mesmo no Éden.
Para Tomás, dado que a política é natural ao homem, ela
deveria existir no “estado de natureza”, isto é, no estado de
inocência, antes da queda: “Assim, alguém domina a outro
como livre, quando o dirige para o próprio bem daquele que
é dirigido, ou para o bem comum. E haveria tal domínio do
homem sobre o homem no estado de inocência por dois mo-
tivos. Primeiro, porque o homem é naturalmente um animal
social: portanto, os homens viveriam socialmente no estado
de inocência. E não poderia haver uma vida social de muitos
9 Comentário à Política I, 1, 3.
10 I, q. 92, a.2.
Norma, moralidade e interpretação... - 257
a não ser que alguém presidisse, tendo a intenção do bem co-
mum. Muitos com efeito por si mesmos se voltam para muitas
coisas, um só para uma e mesma coisa.”12
Ora, o domínio dos livres em direção do bem comum é
a própria definição do poder político: “a política é o gover-
no dos que são livres segundo a natureza”13. Assim, haveria
comunidade política “antes do pecado; com efeito, faltaria à
multidão esse bem que é a ordem”, se não houvesse a “sujeição
civil”.14
Há uma interdependência entre poder político e bem co-
mum. Se o poder político se define como aquele que dirige
a multidão ao bem comum, pode-se dizer igualmente que o
bem comum exige o poder político, pois sem a intervenção
do poder as ações na sociedade não seriam unificadas na di-
reção do bem: sem o poder, o bem não seria “comum”. O bem
comum demanda uma institucionalização: mesmo que todos
buscassem o bem comum - o que se considera que seria o caso
no estado de inocência, uma vez que não haveria egoísmo -
este não seria alcançado a não ser por uma intervenção do
poder que coordenasse os vários projetos e ações individuais
-“muitos se voltam para muitas coisas”- impondo a ordem.
2.4. A ordem da justiça ou o direito
O governante cumpre sua tarefa de impor a ordem prin-
cipalmente através da legislação: “compete à lei ordenar o ho-
mem ao bem comum”.15 Mas à lei cabe “declarar o direito”16 ,
ou seja, a ordem de que se trata é a ordem jurídica: “a intenção
de qualquer legislador ordena-se primeira e principalmente
ao bem comum; em segundo lugar, à ordem da justiça e da
virtude, segundo a qual o bem comum é conservado, e ao
11 I, q. 96, a. 4.
12 Comentário à Política I, 5, 54.
13 I, q. 92, a. 2.
14 II-II, q. 58, a.5.
15 II-II, q. 60, a.5.
258 - Norma, moralidade e interpretação...
mesmo se chega.” 17 No mesmo artigo da Suma Teológica, ele
define “a ordem da justiça” como aquela que garante em que
“a ninguém se faça o indevido, e se dê a cada um o devido.”
Sem a ordem jurídica, a qual estabelece o que é devido a cada
um, não se alcança nem se conserva o bem comum.
Uma consideração da ordem da justiça ou ordem jurídi-
ca ajuda a dissipar os equívocos acerca da utilização das ex-
pressões “todo” e “parte” para designar as relações entre co-
munidade política e pessoa. Para Tomás, a ordem da justiça
regula três tipos de relações na distinção entre todo e parte.
Em primeiro lugar, a justiça geral ou legal regula o que a parte
deve ao todo, isto é, o que a pessoa deve ao bem comum. A
justiça geral não esgota a noção de justiça. Tomás afirma que
“além da justiça legal, que ordena o homem imediatamente
ao bem comum, fazem-se necessárias outras virtudes que o
ordenam imediatamente no que toca aos bens particulares.
Estes podem dizer respeito a nós mesmos ou a outra pessoa
particular”, e por isso “deve haver uma justiça particular que
o ordene em suas relações com outras pessoas particulares”18
Por sua vez, “a justiça particular se ordena a uma pessoa pri-
vada, que está para a comunidade como a parte para o todo.
Ora, uma parte comporta uma dupla relação. Uma, de parte à
parte, à qual corresponde a relação de uma pessoa privada à
outra. Tal relação é dirigida pela justiça comutativa, que visa
o intercâmbio mútuo entre duas pessoas. A outra relação é
do todo às partes; a ela se assemelha a relação entre o que é
comum e cada uma das pessoas. A essa segunda relação se
refere a justiça distributiva, que reparte o que é comum de
maneira proporcional.”19
A pessoa não é dissolvida na cidade. Por isso, há sen-
tido em se falar de todo e parte, e relações entre eles. Só
há relação entre termos que não se identificam. A pessoa
deve à comunidade tudo o que é necessário para que esta
16 I-II, q. 100, a.8
17 II-II, q. 58, a.7.
18 II-II, q. 61, a.1.
Norma, moralidade e interpretação... - 259
alcance o seu bem, o bem comum - justiça geral.A comu-
nidade deve à pessoa tudo o que é necessário para que
esta realize o seu bem - justiça distributiva. Por sua vez,
nas relações de troca, os cidadãos devem aos outros o que
é necessário para que cada um alcance seu bem: justiça
comutativa.
Ao diferenciar justiça geral e particular, a ordem da justi-
ça mantém a tensão e ao mesmo tempo a relação entre o bem
da pessoa e bem comum, constitutiva da cidade. Ela mantém
a tensão porque ela distingue no interior do bem comum, o
bem das pessoas singulares20. Na justiça particular - em uma
troca ou distribuição - o bem comum é indiretamente visado:
o que é diretamente visado é o bem da pessoa concreta. Deste
modo, evita-se a instrumentalização das relações sociais em
função de objetivos coletivos: a pessoa concreta na justiça par-
ticular é tratada como fim imediato. De outro lado, na justiça
geral, a lei subordina o bem pessoal ao bem comum, mas so-
mente para reencontrá-lo em um nível mais alto, como bem
que inclui o bem do outro.
Quando se dá a um indivíduo singular algo que lhe per-
tence, por exemplo, na restituição de um depósito, este ato
só é considerado devido “em atenção ao bem comum”: “A
justiça dá a cada um o que lhe pertence, em atenção ao bem
comum”.21 Dívidas de jogo são indiferentes ao direito por-
que a comunidade não vê o seu bem vinculado ao bem das
pessoas neste âmbito. E inversamente, atos que dizem res-
peito diretamente ao bem comum, como a defesa da pátria,
redundam na realização do bem das pessoas que integram a
comunidade: “quem serve a uma comunidade, serve a todos
os indivíduos que a ela pertencem.”22
19 Daí a importância da noção de direito subjetivo e direitos humanos: enten-
dida corretamente, essas noções evitam que o bem pessoal seja dissolvido no interior
do bem comum..
20 II-II, q. 58, a.12
21 II-II, q. 59, a.5.
260 - Norma, moralidade e interpretação...
2.5. Pluralidade e direito
Segundo Aristóteles, “a polis é, por natureza, uma
pluralidade”23 , isto é, na cidade convivem os diferentes, e
ali, a existência humana só pode se efetivar como bios politikos
(vida política) porque “a política trata da convivência entre
diferentes”.24 Negar a diferença seria negar a cidade e por
isso, Tomás aprova a crítica de Aristóteles a Platão, que como
utópico pensa que o bem máximo da vida social é a unidade,
e não a pluralidade: “não é verdade (...) que a cidade deve ser
maximamente unitária, pois se for anulada a diferença entre
os cidadãos, já não haverá cidade.”25 A unidade, portanto,
não pode avançar tanto que levasse à indiferenciação dos ci-
dadãos. A cidade, no dizer de Tomás, deve ser uma sinfonia,
e não uma homofonia: “Se alguém compusesse uma homo-
fonia, todos cantando a uma só voz, já não haveria sinfonia
ou consonância de vozes, à qual podemos comparar a cida-
de, constituída pela diversidade (...). Assim, a unidade pode
avançar tanto que a cidade seja destruída.”26
Alcançar a unidade sem negar a diversidade é a tarefa do
direito: “é necessário que na cidade haja uma multiplicidade
de homens diversos, voltando-se una e comum por certa dis-
ciplina legal retamente estabelecida.”27 Na ordem da cidade,
a pluralidade das pessoas é reconduzida à unidade da cida-
dania. O papel do direito como instituição que permite trans-
formar uma pluralidade social em unidade política, ou nos
termos de Tomás, uma multidão em povo, fica evidente na
recepção que o Aquinate faz da definição de povo de Cícero
e Agostinho: “povo é a multidão associada pelo consenso do
direito e comunhão da utilidade”28 Entre os diferentes, não se
pode buscar o consenso moral nos detalhes da convivência,
22 ARISTÓTELES, Política II, 2, 1261a.
23 Hannah ARENDT, O que é política?, p.21
24 Comentário à Política II, 1, 121.
25 Comentário à Política II, 5, 129.
26 Comentário à Política II, 5, 129.
27 I-II, q. 105, a.2.
Norma, moralidade e interpretação... - 261
somente o “consenso do direito”. Por meio do direito, as pes-
soas superam suas diferenças reconhecendo-se mutuamente
como cidadãos. O cidadão (unidade) não exclui a pessoa (plu-
ralidade), o que significa que a ordem unifica as pessoas ao
considerá-las somente no seu aspecto público: a cidadania é a
dimensão política da pessoa. A ordem da comunidade não é a
supressão da pluralidade, mas a sua conservação na referên-
cia ao bem comum político.
A cidade não é um todo contínuo, mas um “todo de or-
dem”, isto é, sua unidade é uma “unidade de ordem”. Na uni-
dade de ordem, o todo não está inteiramente unificado, isto é,
as diferenças das partes não são dissolvidas no todo. A unidade
entre partes e todo não é absoluta: “As partes do todo podem
ter atividades que não são operações do todo, como os solda-
dos do exército realizam ações que não são do todo do exército.
O todo tem, além disso, alguma ação que não é própria de algu-
mas das partes, mas do todo mesmo, como por exemplo, uma
batalha da totalidade do exército.” 29 A comunidade política
não funda sua unidade portanto, em uma homogeneidade pré-
política, seja ela religiosa, étnica, linguística, etc. Como um todo
de ordem, sua unidade é dada pela ordem que lhe é própria, a
ordem jurídica, na sua referência a um bem que transcende as
particularidades sem negá-las, o bem comum político.
Os utópicos negam qualquer função de unificação da plu-
ralidade ao direito porque negam a pluralidade. Junípero se
admira de que todos não pensem como ele, ou seja, se admira
da diferença. O mundo do utópico é um mundo de evidências
morais, e portanto, de consenso absoluto. Neste mundo, de
fato, o direito não teria função.
2.6. O justo político
A partir destes argumentos, o termo mais adequado para
designar a ordem jurídica ou o direito como objeto de experi-
28 Comentário à Ética a Nicômaco, I, 1.
262 - Norma, moralidade e interpretação...
ência seja a expressão aristotélica adotada por Tomás no seu
Comentário à Ética a Nicômaco, o justo político.
O justo político ocorre entre os livres e iguais, diz Tomás
de Aquino. É importante notar que a liberdade e igualdade
na polis não são características naturais, mas instituídas. Não
são qualidades da pessoa, mas do cidadão como sujeito de
direito. Assim, “o justo político se encontra entre os homens
livres, não nos servos, pois entre amos e servos não existe o
justo político, mas o justo de domínio (...) e o justo político se
dá entre pessoas iguais, na qual uma não está sujeita à outra
por ordem natural ou civil, como o filho ao pai, entre os quais
não se dá o justo político, mas o justo paterno.”30
O justo político ocorre entre aqueles sujeitos que recebem
sua identidade como cidadãos do próprio justo político. Isto
é, o justo político vale para aqueles qualificados pelo justo po-
lítico como livres e iguais.
Em primeiro lugar, quando se menciona “os livres”, não
se trata da liberdade como atributo humano, que Tomás sem-
pre afirmou como pertencente a todas as pessoas humanas,
mas a liberdade tal como determinada pelo direito: “O justo
político se dá entre pessoas livres e iguais, porque como é de-
terminado pela lei, é necessário que esteja naqueles para os
quais se dá a lei. A lei não se dá principalmente para os servos
que estão sujeitos a seus amos, nem para os filhos que estão
sujeitos a seus pais, mas para os homens livres e iguais.”31 Faz
parte do justo político somente a liberdade que os cidadãos se
reconhecem mutuamente. A lei visa como destinatários prin-
cipalmente seus autores. É a luta política como luta por reco-
nhecimento32 que determinará em que grau a liberdade natu-
ral de todos os seres humanos fará parte da ordem jurídica, e
de que modo perversidades históricas como a servidão serão
superadas. Para ficarmos em um exemplo da nossa época, a
liberdade natural dos estrangeiros, em qualquer comunidade
29 Comentário à Ética, V, 11, 713.
30 Comentário à Ética, V, 11, 715.
31 Cf. Axel HONNETH, Luta por reconhecimento. São Paulo: Editora 34, 2003.
Norma, moralidade e interpretação... - 263
política, não lhes confere liberdade política, isto é, direitos de
participação política. O que é natural necessita de mediação
institucional para valer como ordem comum.
Do mesmo modo, a igualdade de todas as pessoas, tam-
bém sempre afirmada por Tomás de Aquino não conta no jus-
to político como atributo natural, mas como algo determinado
pelo direito como igualdade proporcional na justiça distribu-
tiva e igualdade quantitativa na justiça comutativa: “O justo
político se realiza ou segundo uma proporção, isto é, segundo
uma qualidade uma igualdade proporcional na justiça distri-
butiva; ou segundo o número, isto é, segundo a igualdade de
uma quantidade numérica na justiça comutativa.”33
A polis como “comunidade dos livres e iguais” está destina-
da a decidir o que é a liberdade e a igualdade, decisão que ins-
titui a sua ordem de justiça. “A justiça é uma relação”34 cons-
titutiva da comunidade política e a liberdade e a igualdade só
contam como fatores de ordem no interior desta relação, e não
como dados pré-políticos e portanto, pré-jurídicos. A ordem da
comunidade, o justo político, é a ordem posta pela comunida-
de: “ordenar algo para o bem comum é ou de toda multidão
ou de alguém que faz as vezes de toda multidão.”35 Ainda que
seja contingente o conteúdo do direito, a obediência a ele é um
dever moral, porque é um dever face à comunidade política:
“este direito (posto pela lei) se chama justo relativo porque foi
posto como opção possível para a lei sem ser justo em sentido
absoluto. Contudo, o mesmo deve ser observado pelo homem
virtuoso (...), pois como o bem comum é melhor que o bem de
um só, não deve infringir-se o que convém ao bem público, ain-
da que não convenha a uma pessoa privada.”36
A seguir, veremos dois exemplos de como o direito enten-
dido como o justo da comunidade, o justo político, condiciona
a moralidade da ação.
32 Comentário à Ética, V, 11, 713.
33 Comentário à Ética V, 9, n. 1180.
34 I-II, q. 90, a.3.
35 Comentário à Política, I, 4, n. 47
264 - Norma, moralidade e interpretação...
2.6.1 A propriedade
Se todos estão de acordo, por exemplo, de que o bem
comum político inclui eficiência econômica, ordem e paz, o
que é vital na comunidade política é como vão ser realizados
esses valores. Para Tomás, um dos meios centrais para obter
esses valores é a propriedade privada. Aqui podemos ver a
distância de Tomás do jusnaturalismo moderno, que de Locke
a Nozick, fornece uma doutrina moral da propriedade. Para
Tomás de Aquino, o fundamento da propriedade é político, e
não moral. Ele não se vincula diretamente ao bem da pessoa,
mas da comunidade.
São três os argumentos em favor da propriedade: cada
um é mais solícito na gestão do que lhe é próprio (eficiência);
as coisas são tratadas com mais ordem, quando o cuidado de
cada coisa é confiado uma pessoa determinada (ordem); a
posse comum origina conflitos e litígios (paz).37 Quando Ju-
nípero afirma que “as coisas são antes de Deus do que dos ho-
mens”, parece apontar que a mera enunciação da tese abstrata
pode produzir efeitos concretos benéficos, sem necessidade
da mediação institucional. Tomás, firme na sua antropologia
política, nega isso, e aponta a necessidade da mediação ju-
rídica: os bens são colocados a serviço da comunidade por
meio do direito de propriedade. Agir moralmente é respeitar
a propriedade, uma instituição de direito positivo: “a divisão
das posses não vem do direito natural, porém da convenção
humana, dependendo, portanto, do direito positivo.”38 O
“não roubarás” da lei moral depende da propriedade insti-
tuída pelo direito positivo. É pelo direito que se identifica o
conteúdo do dever moral. O justo precede o bem.
Deste modo, vê-se que a pretensão de Junípero de realizar
uma ação boa fora da ordem jurídica é totalmente infundada.
Junípero, socorrendo o doente, violou a instituição jurídica
36 II-II, q. 66, a.2
37 II-II, q. 66, a.2.
Norma, moralidade e interpretação... - 265
que provê às necessidades do bem comum político no campo
econômico. Ao fazer o bem ao próximo, prejudica a comuni-
dade, o que significa: agiu de modo imoral.
2.6.2. Julgar como juiz
Em dois artigos do “Tratado da Justiça” da Suma Teoló-
gica, Tomás expõe os conceitos que nos permitem pensar o
caso do juiz consciente, por seu conhecimento privado, da
inocência do réu acusado de um crime punido com a morte..
Em primeiro lugar, Tomás estabelece: “Julgar compete ao juiz,
enquanto investido de uma autoridade pública. Assim, quan-
do julga, deve formar sua opinião, não pelo que sabe como
pessoa privada, mas pelo que vem ao seu conhecimento como
pessoa pública.” 39 O juiz pode utilizar seu conhecimento pri-
vado para examinar mais rigorosamente as provas, mas “se
não conseguir invalidá-las por meios jurídicos, deverá basear
nela seu julgamento.” 40 Assim, o juiz “não peca sentenciando
segundo as provas, porque não é ele que mata o inocente, mas
aqueles que testemunham que ele é culpado.”41
A capacidade de habitar a cidade é evitar a tentação do
moralismo utópico: é transcender o alcance moral imediato
da ação para poder situá-lo na perspectiva da cidadania. Só
aquele que vê a si mesmo como cidadão e ao outro como ci-
dadão é capaz de construir a polis. Ora, em primeiro lugar, é o
direito que determina quem é cidadão e em seguida, qual é o
papel que cada um deve exercer no interior da cidade. É vi-
vendo o papel instituído pelo direito que se vive moralmente
na cidade.
Quando Junípero recusa ver o outro como proprietário
ou não proprietário, ele colocou-se fora do justo político. Ao
transcender o público, o comum, colocou-se fora da cidade,
tornando-se incapaz de agir moralmente.
38 II-II, q. 67, a.3.
39 II-II, q. 67, a.3.
40 II-II, q. 64, a.6.
266 - Norma, moralidade e interpretação...
Conclusão
A parábola do samaritano constitui uma boa ilustração da
ética política de Tomás de Aquino.
A parábola parece ser uma suspensão da lei ritual em
nome da lei do amor. O sacerdote e o levita não tocam o ho-
mem meio morto à beira da estrada, porque a lei mosaica
proibia o contato com um morto, sob pena de impureza.42
Ao contrário, o samaritano, que não invoca nenhuma lei
para justificar seu comportamento, “chegou junto dele, viu-
o e moveu-se de compaixão. Aproximou-se, cuidou de suas
chagas, derramando óleo e vinho, depois colocou-o em seu
próprio animal, conduziu-o à hospedaria e dispensou-lhe
cuidados.”43
A parábola pode se lida de uma perspectiva utópica,
como a vitória da natureza social do homem sobre a institui-
ção, a vitória do amor sobre a justiça. Mas o final da parábola
aponta para o contrário. O samaritano “no dia seguinte, tirou
dois denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo: ‘Cuida dele, e
o que gastares a mais, em meu regresso te pagarei”.44 Ao con-
trário de Junípero, o samaritano não rouba ninguém, não se
coloca fora do direito. Ele firma um contrato de prestação de
serviços com o hospedeiro, e não exige deste último nenhum
ato de caridade, mas somente de justiça: o que exceder os dois
denários terá sua contrapartida segundo a justiça comutativa.
O homem ferido é assim inserido nas relações de justiça que
presidem a vida na cidade. O amor não nega o direito, mas o
afirma: o próximo deve ser trazido para o direito, tornar-se
sujeito de direito.
Vimos que a ética utópica consiste em uma espécie de
jusnaturalismo do fato bruto. A natureza humana, com suas
propriedades intrínsecas, seria guia suficiente para orientar
41 “Aquele que tocar um cadáver, qualquer que seja o morto, ficará impuro
sete dias”. Números 19,11.
42 Lucas 10, 33-34.
43 Lucas 10, 35.
Norma, moralidade e interpretação... - 267
a ação humana. A utopia nega o topos (lugar) próprio do ho-
mem: a cidade.
Tomás de Aquino afirma que a sociabilidade natural do
homem só se realiza na cidade, isto é, no interior da comu-
nidade política, por meio do direito. O direito é natural ao
homem, como ensina Frei Tomás: “Ora, o homem é natural-
mente um animal social (...). Em consequência, tudo sem o
qual a sociedade humana não poderia se manter é natural ao
homem. Tal é dar a cada um o que lhe é devido e se abster de
injustiça.”45
A ética política de Tomás de Aquino se revela como um
jusnaturalismo do fato institucional. Agir moralmente é se-
guir a natureza, mas o que é particularmente natural ao ho-
mem é o não-natural – a instituição.
BIBLIOGRAFIA
AQUINO, Tomás de. AQUINO, Tomás. Comentario a la Ética a Nicómaco de
Aristóteles. Pamplona: Eunsa, 2000.
_____________. Comentario a la Política de Aristóteles. Pamplona: Eunsa, 2001.
_____________. Suma Teológica. São Paulo: Loyola, 2005.
ARENDT, Hannah. O que é política? Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999.
ARISTÓTELES. Política. Lisboa: Vega, 1998.
I FIORETTI de S. Francisco de Assis in S. FRANCISCO DE ASSIS. Escritos
e biografias. Petrópolis: Vozes, 1997.
44 Suma contra os gentios, III, 129.
268 - Norma, moralidade e interpretação...
O De Regno e a tradição dos
Specula principum
Alfredo Storck
UFRGS-CNPq
O De Regno ad Regem Cypri de Tomás de Aquino1 é uma
obra que conheceu vários acidentes de transmissão os quais
acabaram gerando grandes debates acerca de sua autenticida-
de. D-H Dondaine, que realizou a edição crítica da obra, lem-
bra-nos os principais elementos a serem considerados. Tomás
teria redigido o opúsculo provavelmente para ser dedicado ao
jovem príncipe Hugo II de Lusignan, morto prematuramente
em 1267, fato que, segundo alguns, explicaria o caráter inaca-
bado do texto2. Conforme se percebe da tradição manuscrita,
alguém, provavelmente Ptolomeu de Lucca, teria continuado
a redação e acrescentado mais 62 capítulos, buscando talvez
assim completar o plano anunciado por Tomás no início da
obra. A versão aumentada teria ganho popularidade durante
o século XV, de tal forma que o conjunto completo passou a
circular sob o nome de Tomás, mas absorvendo o título dado
por seu continuador: De regimine principum3. Foram as impre-
cisões encontradas na segunda parte que mais provocaram re-
45 De Regno ad Regem Cypri, in Sancti Thomae de Aquino, Opera Omnia, Edi-
ção Leonina, t. 42, p. 438-471, doravante apenas De Regno.
46 Note-se, contudo, que Tomás escreveu o seu Comentário à Ética a Nicômaco
por volta de 1271. Como ele utiliza no De Regno esse comentário, deve-se pensar
em uma data posterior e em um outro destinatário, talvez Hugo III. Cf. Torrell, J-P.,
Initiation à Saint Thomas d’Aquin. Sa personne et son œuvre. Editions Universitaires de
Friburg, 1993, p. 246-249. Em suma, o destinatário da obra e a data de sua composição
permanecem questões em aberto.
47 Forma ainda hoje empregada por alguns comentadores. Por exemplo:
Lupi, C. I fondamenti filosofici delle politica secondo S. Tomaso d’Aquino. Roma, Biblioteca
di Storia Patria, 1986, p. 139 e ss.
Norma, moralidade e interpretação... - 269
ações contra a autenticidade da obra como um todo. Todavia,
mesmo depurado de seus acréscimos, o opúsculo continua a
ser visto pelos especialistas como incompatível com o restante
do corpus, impondo-se “prudência e discrição ao recorrer-se a
seu texto como expressão do pensamento do autor”.4
No que segue, gostaríamos de chamar rapidamente a
atenção para alguns aspectos do De Regno e compará-los com
outros elementos do pensamento de Tomás. Nossa principal
preocupação girará em torno de duas teses atualmente aceitas
pela literatura especializada: a) a descontinuidade do pensa-
mento político de Tomás de Aquino, representada pela ma-
neira como ele fundamenta a origem da sociabilidade natural
entre os seres humanos ora baseando-se em Avicena, ora em
Aristóteles; b) a alegada desvalorização do papel da política
entre os medievais e, em particular, em Tomás de Aquino.
Tentaremos nuançar um e outro dos pontos com o objetivo
último de mostrar uma maior unidade e continuidade no pen-
samento de Tomás de Aquino, sobretudo no que diz respeito
à origem da autoridade política, seus fins e fundamentos.
O De Regno e os Specula Principum
Do ponto de vista literário, o De Regno pode ser classifica-
do entre os specula principum, ou espelhos dos príncipes. O gê-
nero dos specula é bastante difundido nos períodos medieval
e moderno. Em sentido amplo, a palavra speculum significa
espelho e com ela buscava-se explorar a metáfora da imagem,
de rica significação para os medievais, pois ela designava tan-
to o Cristo, imagem de Deus, ou o ser humano, criado a ima-
gem e semelhança divina5. A palavra speculum podia signifi-
car ainda um quadro ou, de modo mais amplo, uma síntese, o
que propiciou o seu emprego em diferentes contextos e tipos
48 Dondaine, D-H., Préface, in Opera Omnia, p. 424.
49 Cf. Lachaud, F. e Sordia, L.(ed), Le prince au miroir de la litérature politique de
l’Antiquité aux Lumières, Mont-Saint-Aignan, Publications des Universités de Rouen
et du Havre, 2007, p. 12-13.
270 - Norma, moralidade e interpretação...
de obras. Encontramos assim specula dedicados tanto ao en-
sino6, quanto à espiritualidade7, ao direito8, à política ou
mesmo adotando a forma de enciclopédias9.
Pertencente assim ao vastíssimo gênero dos florilégios
morais e espirituais, os Specula principum possuem contornos
não muito bem definidos no mundo medieval10. São tratados
destinados a fornecer aos príncipes regras sobre a sua fun-
ção política, o modo de governar e como ser bom, prudente
e sábio. O espelho projetava, portanto, uma imagem moral
ideal a ser seguida por aquele que almejasse ser um bom go-
vernante. Encontramos regras morais semelhantes em outros
opúsculos do gênero, como os espelhos dos monges (specula
monachorum), dos clérigos (specula clericorum) ou das virgens
(specula virginum). Essa diversidade temática evidencia um
dos traços característicos do mundo medieval: a pluralidade
dos padrões de virtude. Com efeito, contrariamente ao mode-
lo grego, no qual a unidade das virtudes pareceria projetar a
figura de um tipo único de pessoa virtuosa consubstanciada
no cidadão, o mundo medieval sugere uma dispersão que se
abre para diversos modelos ideais. Ou seja, a falta de unidade
política do mundo medieval não repercutia apenas em dife-
rentes modos, as vezes concorrentes, de exercício do poder,
mas produzia ainda distintos estamentos dotados de deveres
1 De modo geral, todas as obras literárias medievais possuiam um aspecto
educativo. “Medieval literature is fundamentally and continually didatic”. Muir, L.
Literature and society in Medieval France. The mirror and the image 1100-1500. Londres,
Macmillian, 1985, p. 2.
2 Wilson, A. e Wilson, J. L. (ed). A medieval mirror: Speculum humanae salvatio-
nis, 1324-1500. Berkeley, The University of California Press, 1984.
3 Guilherme Durand, Speculum iudicale, Basileae, 1574.
4 Vicente de Beauvais, Bibliotheca mundi Vincenti Burgundi ex ordine Praedica-
torum episcopi Bellovancensis. Speculum quadruplex, naturale, doctrinale, morale, historiale,
in quo naturae historia, omnium scientiarum encyclopedia, moralis philosophiae thesaurus,
temporum et actionum humanorum theatrum… exhibetur, Opera et studio theologorum
benedictorum collegii Vedastini in Academia duacendi, Douai, Balthazar Beller, 1624.
5 Não é a opinião de Quaglioni, D., “Il modello del principe cristiano. Gli
‘specula principum’ fra Medio Evo e prima Età Moderna”, in Comparato, V. I, Mo-
delli nella storia del pensiero politico I, Città di Castello, Leo S. Olschki, 1987, p. 103-122.
Seguimos, todavia, aqui a opinião de Lachaud e Sordia, Op. cit., p. 11-17.
Norma, moralidade e interpretação... - 271
e, portanto, de padrões morais próprios. Desse modo, as vir-
tudes do clérigo ou do príncipe não eram exatamente as mes-
mas, ainda que encontrassem um mínimo comum nos valores
cristãos. O fenômeno deixa-se perceber bastante bem nas três
ordens que compõem o ideário feudal e que foram analisadas
por George Duby em As três ordens ou o imaginário do feudalis-
mo11. Cavaleiros, clérigos e vilões (entendidos esses últimos
como o camponês que trabalha para um senhor) cada qual
tem sua função: manter a justiça, orar noite e dia e trabalhar.
Como afirma Duby, cada ordem “tem sua alegria, a sua dor,
dificuldades específicas a vencer, méritos próprios a ganhar.
A sua moral particular.”12 Ora, a existência de diversas mo-
rais particulares não significava outra coisa senão virtudes
próprias a cada ordem, pois o modelo de vida disponível ao
cavaleiro acarretava, para a sua plena realização, a execução
de tipos de ações tidas por boas e disponíveis apenas àquele
tipo de agente. O bom cavaleiro encarnava virtudes distintas
das do bom monge. Ainda que as três ordens conhecessem
uma certa complementaridade de serviços e reciprocidade de
auxílios, pois o trabalho de uns era possível graças a seguran-
ça garantida por outros, as ordens eram fundamentalmente
marcadas por deveres inerentes a cada ramo de atividade. O
bom clérigo ou o cavaleiro cortês instanciavam modelos de
virtude distintos e respondiam a exigências morais específi-
cas. Essa pluralidade estende-se para além do mundo feudal,
permanece e ramifica-se durante a baixa Idade Média e início
da modernidade acabando por produzir manuais compostos
de conselhos e preceitos morais destinados a mostrar a cada
um (ao clérigo, à virgem, ao cortesão) a imagem ideal do vir-
tuoso que se realiza segundo a vontade de Deus.
No caso dos specula principum, esses tratados tinham por
função aconselhar os príncipes, mostrando-lhes os benefícios
das virtudes cristãs e, com isso, impor-lhes limites morais ao
6 Duby, G. As três ordens ou o imaginário do feudalismo. Tradução de Maria
Helena Costa Dias, Lisboa, Editorial Estampa, 1982.
7 Idem, p. 299.
272 - Norma, moralidade e interpretação...
exercício do poder, afastando-os assim do grande perigo da
tirania, tema recorrente entre os autores do período. O caráter
pedagógico desse gênero literário é ilustrado pela Instrução
das crianças nobres de Vicente de Beauvais13. Composto a pe-
dido da Rainha Marguerite para auxiliar na educação de seus
filhos com Louis IX, trata-se de uma compilação de materiais
retirados da Regula pastoralis de Gregório Magno, do De duode-
cim abusivis saeculi do Pseudo-Ciprião, do De Consideratione de
Bernardo de Clairveaux e, sobretudo, da própria enciclopédia
escrita por Vicente, o Speculum maius. O resultado é um con-
junto de preceitos sobre a origem e a função do governante,
os elementos constitutivos do bom governo e uma análise dos
vícios da corte com o objetivo de indicar como o príncipe deve
portar-se a fim de tornar-se um espelho para seus súditos14.
O De Regno de Tomás de Aquino deve ser lido, portanto,
como um opúsculo pedagógico de cunho político e moral cuja
função é a de servir de auxílio à educação de um novo rei.
Não causa estranheza, portanto, que Tomás inicie sublinhan-
do o triplo modo como ele vai abordar a pergunta pela origem
do poder real e de suas obrigações: segundo a autoridade das
Escrituras, os exemplos dos príncipes de valor e os ensina-
mentos dos filósofos.15 O recurso aos dois primeiros tipos
de argumentos destoa, é bem verdade, do estilo empregado
pelo autor em suas demais obras16. Todavia, compreende-se
perfeitamente bem o uso nesse contexto por tratarem-se de
formas típicas dos Specula Principum17. Em outras palavras, o
8 Vicente de Beauvais, De eruditione filiorum nobilium. Edição de A. Steiner,
Cambridge, The Mediaeval Academy of America, 1938. Consulte-se ainda as preci-
sões aportadas por Munier: Vicent de Beauvais. De l’institution morale du prince. Édi-
tion établie, présenté et annotée par Charles Munier. Paris, Cerf, 2010.
9 Cf. Kempshall, M. “The rethoric of Giles of Rome’s De regime principum”, in Lachaud,
F. e Sordia, L. (ed), Op. cit., p. 161-190 (p. 164-165 para a análise de Vicente de Beauvais).
10 Fernández, C. J., “Origen y finalidad de la política en el De regno de Tomás
de Aquino”. In Mediaevalia. Textos e estudos, 21 (2002), pp. 57-87.
11 Cf. Finnis, J. Aquinas. Moral, political, and legal theory. Oxford, Oxford Uni-
versity Press, 1998, p. 228, n. 51.
12 Com efeito, compare-se com o prólogo do De eruditione filium nobilium de
Vicente de Beauvais acima citado. Vicente afirma apoiar-se nas Sagradas Escrituras,
nos doutores da Igreja, nos filósofos e poetas (p. 3).
Norma, moralidade e interpretação... - 273
que poderia parecer uma ruptura com o modo usual de Tomás
escrever pode, se adotada outra perspectiva, ser visto como
a apropriação de um modelo clássico ao qual é acrescentada
uma reflexão filosófica acerca da origem da autoridade polí-
tica e de seus deveres. A novidade estaria, portanto, do lado
da introdução de justificações filosóficas juntamente com os
exemplos usualmente encontrados na literatura dos espelhos
dos príncipes. Não que inexistissem nesse gênero literário
exemplos tirados de filósofos antigos18. Ocorre apenas que os
argumentos filosóficos não desempenhavam o papel central
que o De Regno lhes concede. Tomás estaria assim inauguran-
do um caminho que seria trilhado, ainda que apoiado em ou-
tros textos de Aristóteles, por Egídio de Roma19.
A natureza política do ser humano
No início do De Regno, Tomás afirma que duas perguntas
ocuparão sua atenção, a origem do reino (origo regni) e os deve-
res do rei (officium regis). A primeira é rapidamente transformada
em uma interrogação mais geral acerca da origem da autoridade
e a segunda, acerca dos limites de seu exercício. Tomás susten-
ta que a autoridade decorre da própria natureza política do ser
humano o que faz com que a resposta à primeira pergunta seja,
ao fim e ao cabo, uma análise da origem da sociabilidade hu-
mana. Se há autoridade, é porque os seres humanos necessitam
viver em sociedades e faz parte da vida em sociedade que ela
seja coordenada por regras. A fonte dessas regras é justamente a
figura da autoridade a qual pode receber diversas formas. Mas
13 Tomar a vida dos filósofos como exemplos morais é outro tema importan-
te no período. Sobre isso, veja-se a coletânea editada por Ricklin, T. Exempla docent.
Les exemples des philosophes de l’antiquité à la renaissance. Paris, Vrin, 2006.
14 Egídio de Roma, De regimine principum, reprodução Omnis, Cambridge, ca
1990. Id. The Defender of Peace. Edited and translated by A. Brett, Cambridge, Cam-
bridge University Press, 2005. Com efeito, o artigo de Kempshall supracitado analisa
a função da Retórica de Aristóteles na estratégia argumentativa de Egídio mostrando
que o De regime principum não pode ser classificado na literatura dos specula princi-
pum. Egídio teria escolhido a forma de um tratado argumentado e renunciado aos
exemplos, estilo tão característico de Vicente de Beauvais e Gilberto de Tournai.
274 - Norma, moralidade e interpretação...
por que seria a vida em sociedade necessária? A explicação resi-
de na própria natureza humana e possui dois momentos, ambos
explorando a tese segundo a qual sempre que um fim pode ser
alcançado de diversos modos, faz-se necessária a figura de um
dirigente para propor os meios que orientarão a consecução do
fim. Em um primeiro momento, Tomás caracteriza o ser humano
tomado individualmente como um ser que age racionalmente,
ou seja, que busca seus fins através da escolha racional de meios.
Nesse caso, o dirigente é a própria razão do indivíduo, pois ela
ordena os meios para o fim e “ordenar a um fim não é outra
coisa que governar”20. Ora, caso fosse possível aos seres huma-
nos viver solitariamente, eles seriam seus próprios governantes,
não sendo necessária nenhuma outra forma de autoridade. No
segundo momento, duas razões são oferecidas para negar essa
possibilidade. Eis a primeira:
Todavia, mais que para qualquer outro animal, é natural ao
ser humano ser um animal social e político, ou seja, viver
junto a muitos, como o demonstra a necessidade natural.
Com efeito, no caso dos demais animais, a natureza prepa-
rou-lhes a comida; como vestimento, proveu-os de pelos;
para sua defesa, dotou-os de dentes, chifres, unhas ou ao
menos de velocidade para fuga. Mas a natureza não dotou
o ser humano dessas coisas. Ao invés disso, foi-lhe dada a
razão que o habilita a preparar tudo isso com suas mãos.
Porém, como um único ser humano não é suficiente para
fazer todas essas coisas, então um ser humano sozinho não
pode levar, de maneira suficiente, sua vida. Logo, é natural
ao ser humano que ele viva em sociedade junto a muitos.21
Conforme mostrou Eschmann22, ainda que se faça
aqui referência à expressão aristotélica “animal político”, a
15 Dubra, J. “Naturalmente “sociable” o “politico”? Tomás de Aquino y la
doctrina aristotélica de la politicidad natural del hombre”. In De Boni, L e Pich, R. A
recepção do pensamento greco-romano, árabe e judaico pelo Ocidente medieval. Porto Alegre,
Edipucrs, 2004, p. 379-408, p. 400 para a passagem citada.
16 De Regno, p. 449.
17 Tomás de Aquino. On Kingship to the King of Cyprus. Translated by G. Phe-
lan and revised with introduction and notes by I. Th. Eschmann, Toronto, Pontificial
Institute of Mediaeval Studies, 1949. Veja-se sobretudo o apêndice II.
Norma, moralidade e interpretação... - 275
fonte de Tomás, como ele próprio reconhece23, é Avicena24.
Todavia, mais tarde, ao comentar a Política I, 2 (1253a7), To-
más passa a seguir mais de perto Aristóteles o qual sustenta
o caráter natural da política por meio de um argumento tele-
ológico. Como no De Regno e em outras obras Tomás preferia
adotar o modelo aviceniano, Eschmann considerou a mudan-
ça como indício de que, após comentar a Política, Tomás “não
mais acredita que o argumento aviceniano seja capaz de de-
monstrar a conclusão segundo a qual o homem é um animal
político”.25 Essa tese tem sido amplamente aceita pela litera-
tura. Antes de analisá-la, consideremos o significado dessa
apregoada mudança examinando, de início, o modo como o
Estagirita prova a necessária natureza política do ser humano.
O argumento teleológico proposto por Aristóteles parte da
suposição segundo a qual se a natureza não faz nada em vão
e se ela dotou um ser natural ou espécie de uma propriedade
que a particulariza em relação às demais, então essa propriedade
deve cumprir uma função na realização do fim ou da natureza
da espécie. Ora, o ser humano é o único a possuir a linguagem.
Os demais animais produzem sons, pelos quais comunicam aos
demais o que causa dor ou é agradável, mas não possuem lin-
guagem. Essa existe para manifestar o que é bom e mau, justo
ou injusto. Ou seja, a função da linguagem reside no fato dela
propiciar a comunicação de noções morais que o ser humano é
o único a possuir. A comunidade dessas noções é o que engen-
dra a família e a cidade. Em outras palavras, a existência de uma
propriedade cuja função está na veiculação de noções morais
acarreta, para Aristóteles, que a realização plena da natureza hu-
mana não pode prescindir das condições para o exercício dessa
18 Contra impugnantes, II, 4, ad 1: “Quod etiam ad manibus operandum ipsa natura
hominem inclinet, indicat corporis dispositio: quia natura non dedit homini vestes,
sicut pilos animalibus; neque arma, sicut cornua bobus et ungues leonibus; neque ali-
quem cibum sibi natura praeparavit excepto lacte, ut Avicenna dicit. Verumtamen loco
omnium dedit sibi rationem, qua haec omnia possit sibi providere, et manus quibus
provisionem rationis exequi posset, ut dicit philosophus in 14 de animalibus.”
19 Avicenna Latinus, Liber de anima seu sextus naturalibus, édition critique par
S. van Riet, Louvain, 1968, p. 69-72.
20 Opus cit, nota 3.
276 - Norma, moralidade e interpretação...
capacidade, a saber, a associação com outros seres humanos. Se
faz parte da natureza do ser racional ser capaz de compreender
o que é justo e bom e de transmiti-lo a outros seres racionais,
então tudo o que é condição para a realização dessa natureza é
igualmente natural. E assim o são a família e a pólis (1253 a 12).
Observe-se que, na conclusão desse argumento, ser um
animal político não significa exclusivamente viver na pólis, mas
deve ser entendido no sentido amplo de viver em comunida-
de com outros. Entretanto, o sentido mais estrito é igualmente
contemplado pelo pensador grego ao defender que a pólis é an-
terior à família e mesmo ao indivíduo (1252b33). Trata-se nova-
mente do tipo de anterioridade que a causa final possui em um
processo teleologicamente ordenado. A série causal é orientada
para realização de um fim considerado como realização plena
da natureza que dele resulta. O processo de produção de uma
cidade tem origem na associação entre homem e mulher em
vista da procriação, passa pela reunião de diversas famílias em
agrupamentos maiores e alcança um nível onde a preocupação
não mais se limita às condições para viver, mas para viver bem.
Entre o simples sobreviver e o viver uma bela vida, há uma
mudança qualitativa consubstanciada na ideia de que a vida
em comum é guiada pela justiça (1253 a 37)26.
Tomás efetivamente não segue de perto esse modelo, ainda
que seja um exagero dizer que ele se afasta por demais das ideias
do Filósofo. Inicialmente, notemos que a estrutura teleológica
está igualmente presente no De Regno, mas sob uma outra forma.
Os seres humanos possuem um fim para o qual estão ordenadas
toda a sua vida e ações, mas não é dito nesse momento qual é
esse fim e tampouco que ele seja natural27. Natural é o uso da
razão para alcançá-lo. Tal como Aristóteles, Tomás compara o ser
humano com os demais animais a fim de estabelecer uma pro-
21 Cf. Lopes, M. O animal político. Estudos sobre a justiça e virtude em Aristóteles.
São Paulo, Esfera Pública, 2008.
22 De Regno: “Hominis autem est aliquis finis, ad quem tota vita eius et actio ordinatur,
cum sit agens per intellectum cuius est manifeste propter finem operari.” O fim último
será posteriormente apresentado como sendo Deus, fim de todas as coisas.
Norma, moralidade e interpretação... - 277
priedade especificamente humana, ponto de apoio da argumen-
tação teleológica e, seguindo Avicena, encontra essa propriedade
na racionalidade humana. Não, de início, na capacidade racio-
nal de diferenciar o justo do injusto, o bem do mal, mas na de
produzir artefatos. Apoiando-se na lição do De Partibus Anima-
lium (687a 19) segundo a qual a mão é o maior dos instrumentos
existentes, pois pode produzir a todos, sendo, por isso, marca
da racionaldade humana, Tomás conclui que, contrariamente ao
caso dos demais animais, providos pela natureza dos instrumen-
tos para garantir a sobrevivência, no dos seres humanos, esses
instrumentos precisam ser criados manualmente. Há, porém,
limites para o poder criador de cada indivíduo de sorte que se
faz necessário o consórcio de forças para criar aquilo que um só
homem seria incapaz de produzir. Ou seja, não é apenas a natu-
reza humana, mas mais propriamente os limites dessa natureza,
que impõem a socialização.
A segunda razão em favor da natureza política do ser hu-
mano tem igualmente sua fonte na mesma obra de Avicena.
Comparando novamente o ser humano com os demais ani-
mais, Tomás afirma que aqueles possuem um conhecimento
inato e natural do que é útil ou nocivo. Já o ser humano precisa
alcançar esse conhecimento produzindo as diferentes artes e ci-
ências. A incapacidade de um único homem para produzir por
si só todo conhecimento conduz, mais uma vez, à necessidade
da socialização. Tomás acrescenta, então, o que parece ser um
mero reforço a sua conclusão e que, na verdade, revela maior
proximidade com o argumento de Aristóteles. O ser humano é o
único a fazer uso da linguagem para comunicar completamen-
te suas concepções a outros. Os demais animais comunicam
seus sentimentos apenas de modo geral. O ser humano é mais
comunicativo e, portanto, mais político que os demais animais
gregários28. Ora, observe-se que a conclusão é uma citação do
23 De Regno: “Alia quidem animalia exprimunt mutuo suas passiones in communi,
ut canis iram per latratum, et alia animalia passiones alias diversis modis; magis igi-
tur homo est communicativus alteri quam quodcumque aliud animal quod gregale
videtur, ut grus et formica et apis.”
278 - Norma, moralidade e interpretação...
texto aristotélico da Política, o que permite concluir que Tomás
não ignorava essa referência. Ele apenas preferiu apresentar o
argumento avançado pelo pensador grego como subordinado
ao segundo argumento de Avicena. Nesse momento, ao menos,
Tomás não os considerava como excludentes, mas como com-
plementares. Obviamente, é sempre possível que Tomás tenha,
sem o dizer explicitamente, mudado de ideia acerca disso. En-
tretanto, mesmo supondo, como o faz Eschmann, que isso tenha
ocorrido, não temos como determinar quais teriam sido as suas
razões. Sendo assim, ao invés de seguirmos a tese da mudança
de posição de Tomás, preferimos falar apenas de uma mudança
de ênfase que não nos compromete com a ruptura conceitual
pretendida por Eschamann. Ademais, como já dissemos acima
seguindo o editor do tratado, o De Regno não pode ser tomado
como expressão mais acabada do pensamento político de To-
más de Aquino. Isso significa que as eventuais mudanças aqui
encontradas não podem ser supervalorizadas. Convém desta-
car, no entanto, um aspecto que permaneceu imutável no per-
curso intelectual do autor e que permite nuançar ainda mais a
tese de Eschmann acerca de um eventual abandono da posição
aviceniana: o fundamento da sociabilidade reside na necessida-
de de cooperação para alcançar um certo fim que não pode ser
produzido por um único homem.
Admitindo-se que o Comentário à Política foi redigido entre
1269 e 1272, podemos dividir o pensamento político de Tomás
em dois momentos: antes e depois do comentário, de sorte
que a mudança sugerida por Eschmann implicaria que foi ao
comentar a Política que Tomás adquiriu sua nova (e mais pró-
xima de Aristóteles) compreensão da natureza política do ser
humano. Ele teria, a partir de então, preferido a interpretação
aristotélica. De fato, Eschmann encontra a nova concepção no
Comentário à Ética a Nicômaco, redigido entre 1271 e 127229.
24 Sententia Libri Ethicorum, I, 1, 4: “Sciendum est autem, quod quia homo
naturaliter est animal sociale, utpote qui indiget ad suam vitam multis, quae sibi ipse
solus praeparare non potest; consequens est, quod homo naturaliter sit pars alicuius
multitudinis, per quam praestetur sibi auxilium ad bene vivendum. Quo quidem
auxilio indiget ad duo.”
Norma, moralidade e interpretação... - 279
Podemos ainda acrescentar que após 1270, Tomás explica a
natureza política do ser humano por meio do argumento for-
mulado pela Política, como ocorre no De Interpretatione (1270-
1271)30, e que a expressão “animal político” passa a ser, des-
de então, frequentemente acompanhada de uma remissão à
Política. Por outro lado, nas obras anteriores ao Comentário à
Política, sobretudo o Super Sententia (1252-1254), Suma Contra
Gentios (1252-1254), Contra Impugnantes Dei cultum et religio-
nem (1256), Quodlibet VII (1256-1257) e Super Matheus (1269-
1270) ou Avicena é explicitamente nomeado ou é feita refe-
rência aos seus exemplos acerca da constituição natural dos
demais animais. Tudo isso parace efetivamente confirmar a
existência da mudança identificada por Eschmann.
Contudo, se aceitarmos que a tese central que Tomás en-
controu em Avicena foi o princípio segundo o qual a vida em
comunidade é necessária, pois um único ser humano é inca-
paz de produzir tudo aquilo de que precisa31, então podemos
afirmar que Tomás permaneceu fiel a esse princípio. Ele é em-
pregado amplamente nas obras anteriores ao Comentário à Po-
lítica, como a Suma contra Gentiles32, mas também após 1270,
como na Suma de Teologia33 e no próprio Comentário à Ética a
Nicômaco34.
Significaria isso que Tomás jamais aderiu inteiramente ao
modelo teleológico aristotélico? Preferimos colocar a pergun-
25 Expositio Peryermeneias, I, 2, 2: “Et si quidem homo esset naturaliter animal
solitarium, sufficerent sibi animae passiones, quibus ipsis rebus conformaretur, ut
earum notitiam in se haberet; sed quia homo est animal naturaliter politicum et so-
ciale, necesse fuit quod conceptiones unius hominis innotescerent aliis, quod fit per
vocem; et ideo necesse fuit esse voces significativas, ad hoc quod homines ad invicem
conviverent.”
26 Avicena, De Anima, 70 12-15:“unus autem homo, si in esse non esset nisi
ipse solus et ea quae sunt eius naturaliter, moreretu, aut vita eius esset mala et peior
quam esse posset; hoc autem est propter nobilitatem eius et ignobilitatem aliorum
animalium.” Assinale-se que a fonte de Avicena pode ser Alfarabi, Traité des opinions
des habitants de la cité idéale, introduction, traduction et notes par T. Sabri, Paris, Vrin,
1990, cap. 26, p. 102-104.
32 Contra Gentiles III, 85, 11; III, 117, 4; III, 128, 1; III, 129, 5; III, 147, 2.
33 Summa Theologiae II-II, 199, 3, 1; II II, 129, 6, 1.
34 Sententia Ethicorum I, 4.
280 - Norma, moralidade e interpretação...
ta de um outro modo. Quais as vantagens reconhecidas pelo
autor para adotar o princípio aviceniano? Duas serão aqui
destacadas: a) o princípio permite uma reflexão geral acerca
da noção de autoridade; b) permite ainda apresentar algumas
obrigações inerentes à vida em sociedade.
Autoridade e obrigações sociais
Sem desconsiderar as teses especificamente cristãs avan-
çadas por Tomás de Aquino e que fazem do homem um ser
cuja realização última ocorrerá na vida junto a Deus35, mas
limitando-nos exclusivamente ao modo como o pensador
medieval justifica a origem da autoridade exercida por um
homem sobre outro em sua vida na terra, podemos dizer que
Tomás parte do pressuposto de que somos naturalmente ani-
mais dotados de duas características: a necessidade de bens
para nossa existência e a racionalidade como ordenando a for-
ma de obtenção desses bens. A razão é, portanto, a faculda-
de que estabelece as regras para alcançar os bens necessários
para viver. Ela ordena os meios pelos quais os bens podem ser
obtidos de modo que seguir as ordens da razão não é outra
coisa que ser governado por ela. Enquanto os seres humanos
bastam a si mesmos, eles não precisam reconhecer nenhuma
outra espécie de autoridade senão a que provém da própria
razão. Todavia, o argumento aviceniano mostra que, tanto do
ponto de vista físico quanto intelectual, o ser humano é limi-
tado, pois é incapaz de produzir manualmente todos os bens
de que precisa e é insuficiente para racionalmente obter todo
conhecimento de que necessita. Logo, o ser humano deve re-
35 De Regno, Todo aquele que tem a incumbência de fazer algo que se subordina a
um fim, deve atentar para que sua obra seja adequada ao fim. Por exemplo, o fabri-
cante faz uma espada de modo a ser apropriada à luta e o construtor deve construir a
casa de modo que seja apropriada à habitação. Ora, dado que o fim da vida que aqui
bem vivemos é a beatitude celeste, então pertence ao dever do rei buscar as coisas
necessárias à boa vida da coletividade e que estão de acordo com a beatitude celeste.
Assim, ele deve, dentro do possível, incentivar o que conduz à beatitude celeste e
proibir o contrário.
Norma, moralidade e interpretação... - 281
correr ao auxílio de outros, fazendo-se, portanto, necessária
a cooperação. Entretanto, assim como o indivíduo busca um
fim seguindo as regras dadas pela razão, a busca coletiva de
um fim exige igualmente regras que governem sua consecu-
ção. Ora, como já dissemos acima, governar não é senão dar
ordens ou estabelecer as regras para realização de algo e, por-
tanto, ser governado é o mesmo que seguir regras. Toda co-
operação exige que as partes envolvidas executem suas fun-
ções no projeto coletivo. Para tanto, é necessário que existam
regras estabelecendo o que deve ser feito por cada um. Quem
determina quais são essas regras é a autoridade. Obedecer a
autoridade é seguir as regras formuladas por aquele que co-
ordena o processo de execução de um projeto.
Note-se que, nesse modelo, a força da autoridade não está
originariamente vinculada ao poder em sentido coercitivo.
Ela reside antes na cooperação que na coerção, como Tomás
deixa claro na Suma de Teologia. Com efeito, ao responder a
questão de se, no estado de inocência, ou seja, anteriormen-
te ao pecado original, haveria relações de hierarquia entre os
seres humanos, Tomás começa por estabelecer dois modos da
dominação (dominium) de um homem sobre outro: o primeiro
ocorre entre o senhor e o escravo, pois é dito senhor (dominus)
aquele ao qual alguém está submetido enquanto escravo. O
segundo refere-se a qualquer forma de sujeição. Somente a
segunda forma poderia existir em estado de inocência o que
demonstra que não apenas essa forma é a mais geral, mas ain-
da que ela não implica a coerção, uma vez que o comandado
coloca-se livremente sob as ordens da autoridade. E se o faz é
porque sem ela não obteria fim buscado. Escutemos o próprio
Tomás:
Mas há domínio sobre um outro como sobre um homem
livre (ut libero), quando o que governa (dirigit) o faz em
relação ao bem daquele que é dirigido. E uma tal domi-
nação de um homem sobre o outro existiria no estado de
inocência por duas razões. Em primeiro lugar, porque o
homem é naturalmente um animal social (naturaliter est
282 - Norma, moralidade e interpretação...
animal sociale) e, portanto, no estado de inocência, ele te-
ria uma vida social. Mas a vida social de uma coletivida-
de não poderia existir sem um dirigente que procurasse o
bem comum. Muitos necessariamente dirigem-se a mui-
tas coisas, mas um dirige-se a uma. E assim o Filósofo
diz no início da Política [1254a28], “quando muitos são
ordenados a um único fim, há sempre um que é o princi-
pal e que dirige”.36
O estado de inocência é um estado sem pecado, sem, por-
tanto, o tipo de dominação característica da escravidão. Mas
mesmo nesse caso, a natureza humana permaneceria vinculada
a algumas leis naturais, o que permite concluir que se algo vale
para o ser humano antes e depois do pecado original, então
vale universalmente e isto em função da própria natureza hu-
mana. Esta não era completamente diferente do que é agora,
permanecendo as distinções entre os seres humanos e, por con-
seguinte, as formas de autoridade. Ora, os seres humanos di-
ferem naturalmente entre si tanto por suas forças físicas quan-
to intelectuais. Logo, essas diferenças existiriam igualmente
no estado de inocência37. Haveria distinções de sexo, idade e
capacidades cognitivas que repercutiriam na aquisição do co-
nhecimento. Tal como no estado após o pecado original, o ser
humano seria limitado e necessitaria cooperar para alcançar
fins que sozinho não obteria. Surgiriam assim relações de co-
operação entre os homens as quais trariam vantagens mútuas.
A obediência às regras definidoras da cooperação daria origem
à autoridade e a relações de mando. No entanto, no estado de
inocência, as regras não precisariam ser impostas, não haven-
do, portanto, necessidade de um elemento coercitivo. Os seres
humanos encontrar-se-iam naturalmente em relações sociais
de cooperação e de autoridade, sem que essas relações fossem
necessariamente coercitivas. Portanto, o dominium para Tomás
é necessariamente uma relação de poder, mas não uma relação
coercitiva ou de exploração.
36 Summa Theologiae, I, 96, 4, grifo nosso.
37 Cf. Suma de Teologia, I, 96, 3.
Norma, moralidade e interpretação... - 283
Convém agora chamarmos a atenção para algumas con-
sequências desse modelo, sobretudo para a forma como o au-
tor introduz as obrigações decorrentes da sociabilização. De
início, lembremos que a coordenação da cooperação social
consubstancia a autoridade, pois sem essa não haveria con-
vergência de esforços, mas divergências de fins, o que levaria
inelutavelmente ao esfacelamento social.
Se é, portanto, natural ao ser humano viver em so-
ciedade junto a muitos, é necessário haver entre eles
alguém pelo qual a coletividade seja governada. Com
efeito, se houvesse uma coletividade de seres huma-
nos, cada qual preocupado com seu próprio interes-
se, essa coletividade dispersar-se-ia em diversas par-
tes, a não ser que houvesse alguém preocupado com
aquilo que pertence ao bem dela. Da mesma maneira,
o corpo do ser humano ou de qualquer outro animal
desmembrar-se-ia caso não houvesse uma força reto-
ra comum presente nele e que rege o bem comum dos
membros. 38
Essa passagem sugere que uma das funções do rei reside
na preservação dos laços sociais sem os quais a sociedade de-
sapareceria. Todavia, disso não pode ser extraído que somente
a autoridade real possui essa função. Ao contrário, sobretudo
na Suma de Teologia, Tomás é explícito ao afirmar que a natu-
reza política do homem lhe impõe obrigações sem o respeito
às quais a vida em sociedade desapareceria. Obviamente, se
alguém não cumpre suas obrigações, cabe a autoridade atuar
de modo que a situação não perdure39. Mesmo assim, o funda-
mento da obediência à autoridade está em seu caráter diretivo
da cooperação social e não na coerção.
Colocando em outros termos o problema, Tomás aceita
que as obrigações advindas da lei humana e, portanto, estabe-
lecidas por aquele que detém o poder de governar a cidade40
38 De Regno, p. 450.
39 Do mesmo modo, pertence também ao ofício de governar a conservação das coi-
sas governadas e o uso delas para o fim a que foram constituídas.
40 Summa Theologiae I, 95, 4 ad 3.
284 - Norma, moralidade e interpretação...
são decorrências da lei natural. Mas também o são os insti-
tutos do direito dos povos e que decorrem do direito natural
como consequências de princípios. Por exemplo, “as compras
e vendas justas e outras coisas do gênero, sem as quais os ho-
mens não poderiam viver em sociedade. Elas pertencem ao
direito natural porque o ser humano é, por natureza, um ani-
mal social, como o provou Aristóteles”41. Ou seja, ainda que
seja essencial à lei humana sua promulgação, certas obriga-
ções do direito natural não precisam ser transformadas em
leis humanas para serem cogentes. Dois exemplos bastam:
a) Obrigação de dizer a verdade
Como o ser humano é um animal social, cada homem
deve ao outro tudo o que for necessário para a preserva-
ção da sociedade humana. Ora, é impossível para os ho-
mens viverem juntos ao menos que um acredite no outro
e que se digam mutuamente a verdade.42
b) Obrigação de cordialidade para com os concidadãos
Como já mostramos acima43, o homem é, por nature-
za, um animal social que deve de forma honesta dizer a
verdade aos outros homens sem o que a sociedade não
perduraria. E assim como o homem não poderia viver
em sociedade sem a verdade, também não poderia viver
sem alegria. (...) Eis por que o homem possui uma obri-
gação natural de honestidade e de tornar agradável suas
relações com os demais, a menos que por algum motivo
particular faça-se necessário importuná-los para o pró-
prio bem.44
Em suma, a despeito das inúmeras referências a Aristóte-
les e mesmo após comentar a Política, Tomás de Aquino não
encontra no pensador grego sua única ou mesmo sua princi-
pal fonte. Mas implicaria isso alguma perda por relação ao
41 Summa Theologiae I, 96, 1.
37 Summa Theologiae II II, 109, 3, 1.
38 Trata-se da passagem imediatamente acima.
39 Summa Theologiae II II, 114, 2, 1.
Norma, moralidade e interpretação... - 285
pensamento de Aristóteles? Examinaremos rapidamente essa
questão na próxima seção.
Político ou social?
Em sua obra A condição Humana, Hannah Arendt insistiu
sobre o fato de serem três as formas de vida reconhecidas por
Aristóteles: a vida do prazer, reservada ao consumo da beleza,
a vida consagrada aos assuntos da pólis, na qual realizamos
belas ações, e a vida do filósofo, dedicada à contemplação.
Segundo Arendt, esses três modos de vida escapariam aos
constrangimentos ligados às necessidades da vida, ao traba-
lho e ao comércio. A vida da pólis seria um tipo bastante es-
pecial de organização política e independente de toda ação
necessária para garantir a coexistência dos homens. Preserva-
ria da vida activa apenas a dimensão da ação, ou seja, aquela
que coloca os homens em relação direta uns com os outros,
sendo, portanto, marcada pela pluralidade e despida de qual-
quer intermediário, sejam objetos ou matéria. Todavia, com o
mundo medieval, a vida da ação passa a ser contada entre as
necessidades da vida terrestre, “de modo que não resta mais
da existência verdadeiramente livre senão a contemplação”.45
Essa perda de dignidade da vida da ação acarretou um re-
baixamento da vida política e teria proporcionado a confusão
entre a dimensão política livre e as demais formas de convívio
orientadas para as necessidades naturais ou para as necessi-
dades da vida de cada um.
De acordo com Arendt, essa concepção original foi pro-
fundamente modificada quando Sêneca, no De Beneficiis,
7, 1, 7, substitui “animal político” por “animal social”. O
gesto teria sido continuado por Tomás de Aquino na sua
Suma de Teologia ao afirmar que o “homem é naturalmente
político, isto é, social”. “Mais do que toda teoria”, afirma
Arendt, “essa substituição do político pelo social mostra
40 Arendt, Hannah. A condição humana, cap. 1, p. 49.
286 - Norma, moralidade e interpretação...
a que ponto a concepção original grega da política estava
perdida”46.
Arendt tem razão sobre Tomás de Aquino empregar pre-
ferentemente a expressão “animal social” à “animal político”.
De fato, ele chega mesmo a usar “social” como sinônimo de
“político”. Ocorre, no entanto, que se olharmos para as tradu-
ções latinas de Aristóteles disponíveis a Tomás, veremos que
o vocábulo politikon não recebe um tratamento uniforme. Na
História dos Animais, os seres humanos e os animais são ditos,
em latim, politica (políticos). Na Ética a Nicômaco, em 1097b11,
a expressão politikon o antropos, (o homem é, por natureza, um
ser político) é traduzida por Guilherme de Moerbeke por civile
homo. Já em 1162a17-18, o tradutor prefere politicum, fazendo
Aristóteles afirmar que o homem é, por natureza, um ser mais
conjugal do que político47, opção mantida em 1169b1848. Toda-
via, nas famosas passagens da Política, 1253a2-3 e 7-8, politikon
zoon é traduzido em latim por civile animal. Ou seja, essa breve
análise das traduções confirma que a sinonímia entre civil e
político havia sido amplamente incorporada no modo de ler e
interpretar Aristóteles. E se a interpretação estava assimilada
pelas traduções, não chega a surpreender que a encontremos
também em Tomás de Aquino.
Procurando, todavia, um pouco mais além a origem dessa
sinonímia, notaremos que já no próprio Aristóteles, e mesmo
em Platão49, o termo “político” não era empregado apenas na
acepção destacada por Hannah Arendt. Na História dos Ani-
mais, Aristóteles diferencia os animais gregários dos políticos
dizendo que são políticos aqueles que agem em vista de um
bem comum, o que não é o caso daqueles que vivem apenas
41 Opus cit., cap. 2, p. 60.
42 Cf. o texto latino editado por Gauthier, in Tomás de Aquino, Sententia Libri
Ethicorum, VIII, 12, p. 485: “Homo enim in natura coniugale magis quam politicum.”
Ao discutir a instituição do casamento, Tomás enfrenta uma objeção que pretende
defender ser o casamento algo natural justamente baseado nessa tradução. Cf. Super
Sententias, IV, 26, 1, 1.
43 Opus cit, p. 534: “politicum enim homo et convivere aptus natus est”.
44 Platão, Fédon, 82b5.
Norma, moralidade e interpretação... - 287
em grupos. São, portanto, políticos os seres humanos, as abe-
lhas, as vespas, as formigas e o grou50. A vida política não é,
portanto, própria ao ser humano, nem para Aristóteles, nem
para a tradição grega. Como bem lembra V. Goldschmidt, a te-
mática dos animais políticos não tardou a tornar-se clássica na
antiguidade, sendo desenvolvida por Teofrasto no De Pietate
e encontrada ainda em Varão, Cícero, Virgílio e Plínio51. Ou
seja, o tema desenvolveu-se de forma bastante independente
do alegado gesto modificador de Sêneca, não sendo, portanto,
necessário ver aí a perda de um sentido primitivo específico.
Dito isso, o importante talvez não seja tanto procurar a dis-
tinção entre essas duas noções (social e político), mas chamar a
atenção para a polissemia presente já no vocábulo grego e manti-
da em latim pelas traduções citadas. Como Fred Miller mostrou,
a expressão “animal político” pode ser entendida, em Aristóte-
les, em um sentido amplo, o qual permite sustentar que o ser
humano é, juntamente com alguns animais, um ser político. A
diferença reside apenas no fato dele satisfazer mais plenamente
a definição52. A interpretação de Miller baseia-se na afirmação de
Aristóteles (1253a7-9) segundo a qual o ser humano é um animal
mais político que a abelha ou qualquer outro dos animais gregá-
rios citados acima. Aristóteles reconheceria assim graus entre as
associações políticas, reservando para a pólis o ponto supremo
da hierarquia. Ora, essa interpretação pode facilmente ser assi-
milada à de Tomás de Aquino na medida em que se coaduna
com dois traços de sua teoria, a saber: a) o papel central de uma
teologia natural que concede um lugar distintivo ao ser humano
entre os animais e b) a especificidade das virtudes políticas. Veja-
mos mais de perto esse segundo aspecto.
45 ArisToTeles lATinus, De Historia Animalium. Translatio Guillelmi de Mor-
beka. Pars Prima, L. I-V, ediderunt Pieter Beullens et Fernand Bossier, Leiden, Brill,
2000. 448a2-9, p. 9102-109: “Et gregalium autem et solitariorum hec quidem politica hec
autem dispersa. (...) Politica autem sunt quorum unum aliquid et commune fit opus;
quod quidem non omnia faciunt gregalia; est autem tale homo, apis, vespa, formica,
grus.”
46 Goldschmidt, V., La doctrine d’Epicure et le droit, Paris, Vrin, 1977, p. 46-47.
47 Miller, F. D., Nature, justice, and rights in Aristotle’s Politics, Oxford, Claren-
don Press, 1995, p. 30-31.
288 - Norma, moralidade e interpretação...
Anteriormente à redescoberta do corpus aristotélico, um
dos textos mais célebres na Idade Média a qualificar o ser hu-
mano como animal social era o Comentário ao Sonho de Scipião
de Macróbio53. Este atribui a Plotino (ainda que seja Porfírio sua
verdadeira fonte54) uma classificação hierárquica das virtudes
dividindo-as em quatro gêneros, os quais possuem , respectiva-
mente, quatro espécies. As virtudes do primeiro gênero, único
a nos interessar aqui, são as virtudes políticas e são próprias ao
homem enquanto animal social, pois é por elas que os homens
de bem ocupam-se da coisa pública (res publicae), defendem
as cidades, veneram seus pais, amam seus filhos, cuidam dos
próximos, administram a felicidade de seus cidadãos. As suas
espécies são a prudência, a coragem, a temperança e a justiça.
Dessa última “provêm a inocência, a amizade, a concórdia, a
piedade, a religião, o escrúpulo e a humanidade”. Ou seja, a
passagem mostra que o mero uso da equivalência “social = po-
lítico”, aqui presente, não implica, por si só, a completa desva-
lorização do campo político, uma vez que esse continua a ser
concebido como o âmbito de exercício das virtudes e, portanto,
de realização plena da natureza humana.
Tomás de Aquino analisa o Sonho de Scipião na Suma de
Teologia ao perguntar sobre a adequação da quádrupla divisão
das virtudes. Tratando das virtudes políticas, afirma:
E porque o ser humano, segundo a sua natureza, é um
animal político, as virtudes desse tipo, na medida em que
estão nele de acordo com a sua natureza, chamam-se polí-
ticas, pois é em razão delas que o ser humano se compor-
ta corretamente na condução dos assuntos humanos.55
Note-se que Tomás prefere aqui politicum a sociale, esse
último usado pelo próprio Macróbio, sem que isso signifi-
48 Macróbio, Commentaire au Songe de Scipion, Macrobe, texte établi, traduit et
commenté par M. Armisen-Marchetti, Paris, Belles Lettres, 2001, I, 8, 5, p. 51-52.
49 Cf. a nota 191, p. 157-158 da edição citada.
50 Summa Theologiae I II, 61, 5: “Et quia homo secundum suam naturam est
animal politicum, virtutes huiusmodi, prout homine existunt secundum conditio-
nem suae naturae, politicae vocantur: prout scilicet homo secundum has virtutes recte
se habet in rebus humanis gerendis.”
Norma, moralidade e interpretação... - 289
que qualquer crítica endereçada ao pensador romano. Ao
contrário, Tomás faz sua a tese de Macróbio segundo a qual
a virtude política não diz respeito meramente à administra-
ção daquilo que é comum. Ora, uma certa objeção, fundada
aparentemente em Aristóteles, pretenderia atribuir exclusi-
vamente à justiça legal a regulação do bem comum (bonum
commune), excluindo assim a prudência, a coragem e a tempe-
rança da classe das virtudes políticas. Ao que Tomás responde
que, de fato, somente a justiça legal ocupa-se diretamente do
bem comum. Todavia, ela, por comandar as demais virtudes,
orienta-as ao bem comum. As virtudes políticas devem, por-
tanto, ser entendidas não apenas como aquelas que versam
sobre o que é comum, vale dizer, o bem da comunidade, mas
também como as que versam sobre as partes do comum, ou
seja, as casas e as pessoas singulares56. Não há, nem pode ha-
ver, para Tomás de Aquino, uma preocupação com o bem da
coletividade entendida apenas como coletividade e indepen-
dentemente de uma concepção distributiva do bem comum.
Além disso, o Sonho de Scipião parece deixar claro que ao
se falar da condição natural humana não se está enuncian-
do uma tese meramente descritiva. Obviamente, dizer que o
ser humano possui, enquanto animal social, virtudes políti-
cas, não equivale a sustentar que todo aquele que vive em
uma associação política, de fato, possui essas virtudes. Aci-
ma, ao lembrarmos a caracterização do tipo literário dos spe-
cula principum, indicamos tratar-se de um caso de um gênero
maior, os specula, o que apontava para uma pluralidade de
tipos de agentes (o cavaleiro, o clérigo, a virgem) dotados do
que Duby chamou uma “moral particular”. Se compararmos
agora esse quadro moral geral com aquele desenvolvido por
Tomás de Aquino, sob a inspiração de Aristóteles, notare-
mos que o teólogo defende que a condição natural humana
é política, entendendo-se por política a vida em comunidade.
Entretanto, isso significa unicamente que a condição natural
51 Summa Theologiae I II, 61, 5, 4.
290 - Norma, moralidade e interpretação...
humana não será plenamente realizada a não ser no convívio
com os demais seres humanos sem que isso acarrete a desva-
lorização da administração e distribuição do bem comum. Ou
seja, as morais particulares não estilhaçam o campo social e
não retiram a importância da esfera especificamente ligada ao
bem comum. Como Tomás deixa claro ao precisar a natureza
das virtudes teologais, a felicidade que o ser humano é capaz
é de dupla natureza. De um lado, ela é proporcional a sua
natureza humana, pois é alcançável por princípios naturais e
pelo uso da razão. De outro, a felicidade é sobrenatural, pois
ultrapassa as forças e princípios da natureza humana, sendo
alcançável apenas mediante auxílio de princípios adicionais,
fornecidos por Deus. Todavia, dizer que a felicidade humana
não é obtida a não ser na vida em comunidade, não é o mes-
mo que conferir a todos os estilos ou tipos de vida possíveis
no gradiente social o mesmo valor, esvaziando-se, por via de
consequência, a dimensão política da administração do bem
comum. Na verdade, é exatamente o contrário o que ocorre.
As virtudes políticas são virtudes em mais alto grau.
Norma, moralidade e interpretação... - 291
Você também pode gostar
- Principios Basilares Que Norteim A Adminstraçao em MoçambiqueDocumento19 páginasPrincipios Basilares Que Norteim A Adminstraçao em MoçambiqueGil NhacassaneAinda não há avaliações
- Passei DiretoDocumento11 páginasPassei Diretousopratudo36067Ainda não há avaliações
- O INQUÃ-RITO CIVIL COMO MEIO PARA SOLUÃ-Ã-O CONSENSUAL DE CONFLITOS COLETIVOS - Prà Mio IBDPDocumento20 páginasO INQUÃ-RITO CIVIL COMO MEIO PARA SOLUÃ-Ã-O CONSENSUAL DE CONFLITOS COLETIVOS - Prà Mio IBDPAMANDA MIRELLE DE OLIVEIRA LIMAAinda não há avaliações
- Prova Auditor-TCE-GOIAS Gabarito 1Documento25 páginasProva Auditor-TCE-GOIAS Gabarito 1Douglas Dias Reis (PR.MG)Ainda não há avaliações
- Caso 16Documento2 páginasCaso 16raylankevenen007Ainda não há avaliações
- Democracia em AfricaDocumento64 páginasDemocracia em AfricaJamesAinda não há avaliações
- NM 2022 de 26.10.2018 - Conteúdo Integral PDFDocumento47 páginasNM 2022 de 26.10.2018 - Conteúdo Integral PDFDiemis RochumbackAinda não há avaliações
- OAB XXXIII Gran CursosDocumento7 páginasOAB XXXIII Gran CursosCarol TellesAinda não há avaliações
- 0 2on TrackDocumento40 páginas0 2on TrackFilipeAinda não há avaliações
- Bem de Família PDFDocumento7 páginasBem de Família PDFRogério Henrique100% (1)
- 18.prova QCO ADM 2018 - ComentadaDocumento70 páginas18.prova QCO ADM 2018 - ComentadaAugusto LRAinda não há avaliações
- Aula 2 - TJSP - Principal Estabelecimento - Maior Volume de NegóciosDocumento6 páginasAula 2 - TJSP - Principal Estabelecimento - Maior Volume de NegóciosBia GomesAinda não há avaliações
- Poder JudiciarioDocumento2 páginasPoder JudiciarioMatheus DuarteAinda não há avaliações
- Convenção de BasileiaDocumento2 páginasConvenção de BasileiaDavid MacedoAinda não há avaliações
- Oficio Requisitorio LeilaDocumento2 páginasOficio Requisitorio LeilaRafaelAinda não há avaliações
- DOM-2487-Segundo - Caderno-15-03-2021 EDITALDocumento56 páginasDOM-2487-Segundo - Caderno-15-03-2021 EDITALAlexandra TeodoroAinda não há avaliações
- Direitos HumanosDocumento23 páginasDireitos HumanosErnane MagalhãesAinda não há avaliações
- Fundamentos Da Regulação 69-118Documento50 páginasFundamentos Da Regulação 69-118luciano melo francoAinda não há avaliações
- Modelo de MATRIZ DE SINCRONIZAÇÃO EBDocumento7 páginasModelo de MATRIZ DE SINCRONIZAÇÃO EBMario LimaAinda não há avaliações
- Grupo 5Documento4 páginasGrupo 5nuneskaio740Ainda não há avaliações
- Caso 1 EstagioDocumento4 páginasCaso 1 EstagioJoao Otavio Fiorentini Rodrigues NunesAinda não há avaliações
- Protocolo 26.533.581-2022. Arbitragem On LineDocumento17 páginasProtocolo 26.533.581-2022. Arbitragem On LineCOMISSÃO DE JUSTIÇA E CIDADANIA JUSTIÇA ArbitralAinda não há avaliações
- Registo PredialDocumento16 páginasRegisto Predialnanda_macAinda não há avaliações
- Eleições Conselho Tutelar Recanto - Das - Emas - RA - XV - 20231001232646Documento4 páginasEleições Conselho Tutelar Recanto - Das - Emas - RA - XV - 20231001232646Kleber KarpovAinda não há avaliações
- Tutoria Princípios de Direitos ReaisDocumento11 páginasTutoria Princípios de Direitos ReaisInês VieiraAinda não há avaliações
- Termo de SubcontratacaoDocumento1 páginaTermo de Subcontratacaojurandi chavesAinda não há avaliações
- Remanejados Do 2 para 1 Semestre - 1 Chamada SiSU 2017.1 Publicado em 14.02.Documento53 páginasRemanejados Do 2 para 1 Semestre - 1 Chamada SiSU 2017.1 Publicado em 14.02.rockhome75Ainda não há avaliações
- Resumo:: Mateus Mota Borges Barros Fernando Palma Pimenta FurlanDocumento14 páginasResumo:: Mateus Mota Borges Barros Fernando Palma Pimenta FurlanCrys FrydoAinda não há avaliações
- Administração Direta e IndiretaDocumento91 páginasAdministração Direta e IndiretaLucas AmorimAinda não há avaliações
- UntitledDocumento40 páginasUntitledDebora MaiaAinda não há avaliações
- Planejamento Patrimonial e Sucessório: controvérsias e aspectos práticos: Volume IINo EverandPlanejamento Patrimonial e Sucessório: controvérsias e aspectos práticos: Volume IIAinda não há avaliações
- Guia Prático de Planejamento PatrimonialNo EverandGuia Prático de Planejamento PatrimonialAinda não há avaliações
- Noções de Direito Tributário Municipal: um guia da teoria à práticaNo EverandNoções de Direito Tributário Municipal: um guia da teoria à práticaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Uma leitura negra: Interpretação bíblica como exercício de esperançaNo EverandUma leitura negra: Interpretação bíblica como exercício de esperançaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Apometria: Caminhos para Eficácia Simbólica, Espiritualidade e SaúdeNo EverandApometria: Caminhos para Eficácia Simbólica, Espiritualidade e SaúdeNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Os engenheiros do caos: Como as fake news, as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar eleiçõesNo EverandOs engenheiros do caos: Como as fake news, as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar eleiçõesNota: 5 de 5 estrelas5/5 (24)
- Direitos Fundamentais: Introdução Geral - 2ª ed.No EverandDireitos Fundamentais: Introdução Geral - 2ª ed.Ainda não há avaliações
- Um Poder Chamado Persuasão: Estratégias, dicas e explicaçõesNo EverandUm Poder Chamado Persuasão: Estratégias, dicas e explicaçõesNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (9)
- Manipulação: Técnicas Proibidas e Psicologia SombriaNo EverandManipulação: Técnicas Proibidas e Psicologia SombriaNota: 4 de 5 estrelas4/5 (6)