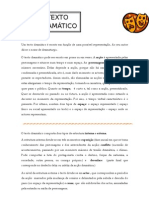Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
96698-Texto Do Artigo-213919-1-10-20160618
96698-Texto Do Artigo-213919-1-10-20160618
Enviado por
Daniel SuaniTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
96698-Texto Do Artigo-213919-1-10-20160618
96698-Texto Do Artigo-213919-1-10-20160618
Enviado por
Daniel SuaniDireitos autorais:
Formatos disponíveis
INGOLD, Tim.
Making: Anthropology,
Archaeology, Art and Architecture.
Londres/Nova York: Routledge, 2013, 176p.
Ion Fernandez de Las Heras
Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, São Paulo, Brasil.
DOI 10.11606/issn.2316-9133.v24i24p598-602
Em seu último livro, Tim Ingold demonstra, mais uma vez, possuir a
capacidade de produzir complexos enunciados capazes de reverberar com a
força e a simplicidade de slogans, imagens que animam a se introduzir em
constelações conceituais que trazem para um mesmo encontro diferentes
sistemas filosóficos e práticas cotidianas, grandes monumentos arquitetô-
nicos e efêmeras produções artesanais.
Trata-se de um novo ponto singular nesse fluxo teórico que Ingold co-
meçou com Lines: a brief history (INGOLD, 2007) e que continuou de-
senvolvendo em sua compilação de artigos, Being Alive: essays on movement,
knowledge and description (INGOLD, 2011). Em processo de escrita desde
2007 e inspirado em um curso oferecido desde 2003, intitulado de “The 4
As”, o próprio Ingold admite ter “roubado” daí várias ideias que se expuse-
ram antecipadamente em seu trabalho de 2011, a ponto de o capítulo “The
textility of making” (INGOLD, 2011, p. 210-219) poder ser percebido
como um resumo parcial desse livro.
Desde as primeiras páginas, o autor expõe uma ideia controvertida que
acompanha o resto do texto e que concerne à prática antropológica: se-
gundo Ingold, a base do conhecimento se encontra especificamente no fa-
zer, do mesmo modo que “ensinar antropologia é praticar antropologia, e
praticar antropologia é ensiná-la” (INGOLD, 2013, p. 13). Isto o leva a
definir a diferença que distingue a antropologia (um estudo com as pessoas)
da etnografia (um estudo sobre as pessoas), e a advogar pela primeira em
detrimento da segunda: a prática antropológica deve ser transformacional
e necessita olhar para o futuro (INGOLD, 2013, p. 3). Para Ingold, a an-
tropologia pode se favorecer ao estabelecer uma relação de correspondência
com o mundo e ir além da recopilação de informação sobre o mesmo, o
que suporia se aproximar a uma arte da investigação ou do questionamento
(“art of inquiry”) (INGOLD, 2013, p. 7).
cadernos de campo, São Paulo, n. 24, p. 598-602, 2015
anthropology, archaeology, art and architecture | 599
Exemplificar esse ponto de vista, tomando as coisas a partir de sua produ-
ção em diferentes âmbitos disciplinares parece ser um dos objetivos do livro.
Desse modo, Ingold começa, no segundo capítulo, a reconhecer que as
coisas fluem e que os objetos não são, mas que vivem como materiais para
além de produções imagéticas da consciência. Desse modo, entra em sinto-
nia com a crítica do hilemorfismo elaborada por Simondon (SIMONDON,
2005), e afirma que a produção de um tijolo de barro mediante um molde
não passa por uma relação em que uma forma se impõe a uma matéria, mas
por uma “contraposição de forças opostas e iguais imanentes em ambos, a
argila e o molde” (INGOLD, 2013, p. 25). Essa perspectiva do fazer é iden-
tificada com um constante processo de crescimento e não com um projeto aca-
bado (INGOLD, 2013, p. 21); um escultor é aquele que, em um momento
concreto da historia do mármore, do material, participa de sua gênese.
Como entender, então, o que é um machado de mão pré-histórico, o
Biface Acheulense, sem cair em argumentações hilemórficas que remetam
a uma produção consciente ou um design inteligente? Ingold dedica o ter-
ceiro capitulo à revisão de um tema clássico da arqueologia para enfrentar
tal problemática. Em 1964, Leroi-Gourhan (LEROI-GOURHAN, 1993
[1964]) propunha entender a ferramenta Acheleuense simultaneamente
como uma extensão ou “emanação direta do comportamento da espécie”
e o resultado de uma “preexistência na mente do produtor”, e se pergun-
tava: por que não se visualizaram formas alternativas ou se realizaram em
diferentes materiais? (INGOLD, 2013, p. 37). Sem muita argumentação,
Ingold conclui que não há razões para acreditar em qualquer representação
mental que preceda o acontecimento produtivo (INGOLD, 2013, p. 43),
e, acompanhando parcialmente a tese de Leroi-Gourhan, propõe obser-
var as relações entre a morfologia da mão e a do instrumento, ou entre a
dinâmica gestual do processo de lascação (“flaking”) e as propriedades de
ruptura do material (INGOLD, 2013, p. 43).
Para ele, se existe alguma regularidade na forma do artefato, esta é a
derivação de um fluxo rítmico de movimentos, o ritmo como “criador de
formas” (INGOLD, 2013, p. 45), desenvolvido no momento da intera-
ção. No entanto, o que regula esse ritmo concreto, e não outro que leve
ao desenvolvimento de uma nova forma, ou o que faz do machado Ache-
leuense uma série de relações formais, interligadas através de mais de um
milhão de anos, fica sem explicação. O machado de mão parece surgir
assim em cada encontro, concreto e fluido, mas historicamente recorrente,
entre o acaso e a improvisação por um lado, e o determinismo dos corpos
e dos materiais por outro.
Apesar de acreditar ter resolvido o conflito, o mesmo problema persiste
e se expande ao se introduzir no contexto da arquitetura (Cap. 4). Por um
lado, Ingold comenta, seguindo o raciocínio desenvolvido até o momen-
cadernos de campo, São Paulo, n. 24, p. 598-602, 2015
600 | Ion Fernandez de Las Heras
to, que a arquitetura é muito mais do que o projeto do arquiteto, e que
ela começa no momento em que é habitada por humanos, infestada por
insetos ou corroída pelo efeito dos elementos (INGOLD, 2013, p. 48);
por outro lado, faz lembrar da origem humilde da disciplina arquitetônica,
muito próxima ao trabalho do carpinteiro e perpetuada pelos canteiros
de obras medievais, nos quais o aprendizado se dava através do trabalho.
Desse modo, se apoiando nas especulações de Turnbull (2000), discute a
possível falta de um projeto arquitetônico abstrato no processo de constru-
ção de uma catedral gótica como a de Chartres, para alegar que a produção
de tais obras se dava através de decisões in situ determinadas pelos condi-
cionantes da obra. O capítulo encerra o assunto exemplificando, mediante
uma reprodução da fachada frontal do edifício (INGOLD, 2013, p. 58),
a variabilidade e falta de regularidade entre os elementos que compõem a
catedral de Chartres.
É preciso assinalar que, ao procurar uma compreensão imanentista so-
bre a produção da arquitetura, Ingold cai numa exaltação do canteiro de
obra típica do romanticismo arquitetônico medievalista de autores como
John Ruskin ou William Morris. O autor apresenta a fachada da catedral
mais representativa do estilo gótico como o resíduo de um movimento
complexo que a produziu em intensidade e omite as várias análises ico-
nográficas (ECO, 1987; PANOFSKY, 1951) que insistiram que a estética
gótica está envolvida em uma tradição teológica que inter-relaciona cada
forma a estritos parâmetros transcendentais: belo, no gótico, não é o que é
produzido pela harmonia de um canteiro de obras, mas aquilo que remete
a padrões concretos de luz, proporção, peso e simbologia. Nesse sentido,
resulta problemático o modo em que Ingold exclui parte das relações que
compõem precisamente a coisa e os materiais para fazer uma afirmação
do acontecimento generativo que não consegue superar sua enunciação:
arquitetura é “making”. Por que negar o projeto em vez de problematizá-lo?
Em lugar de introduzir e aproximar os fatores, elementos e relações for-
mais, estilísticas, linguísticas ou técnicas para o encontro generativo pro-
curando analisar a coisa também em extensão, Ingold parece expulsar tais
relações, reduzindo-as indiretamente a um efeito de superfície.
No capítulo cinco, dedicado ao design, o autor retoma o assunto da pré-
-invenção sugerindo que um relojoeiro cego poderia desenvolver o projeto
de um relógio, mas nunca poderia executá-lo: “a tarefa do produtor con-
siste em trazer as peças para um engajamento, de maneira que cheguem a
uma correspondência mútua” (INGOLD, 2013, p. 69). Isto é, o relojoeiro
produz o relógio habitando junto às peças, participando de suas relações de
coerência interna, e não estabelecendo uma relação de domínio sobre elas.
Desse modo, resulta possível explicar a estreita relação que as palavras design
e desenho têm em diferentes línguas: o design só existe na medida em que é
cadernos de campo, São Paulo, n. 24, p. 598-602, 2015
anthropology, archaeology, art and architecture | 601
feito através do caminho que o próprio desenhar desenvolve “num tempo de
crescimento ou formação, de ontogênese” (INGOLD, 2013, p. 69).
Cabe dizer, neste ponto, que em nenhum momento Ingold oferece
explicitamente o mesmo estatuto ontogenético ao projeto ou à imagem
mental. Para ele, o processo mental parece transcorrer num espaço cuja
produção não é equivalente a um habitar que constitui linhas próprias.
De qualquer modo, se um objeto é sua gênese, como é possível datá-lo?
Como determinar a idade de uma paisagem ou de uma montanha? “[...]
uma montanha nunca será completa” (INGOLD, 2013, p. 80); mas e um
monumento? “Por que datar um monumento desde o momento em que é
construído?” (INGOLD, 2013, p. 81). No capítulo seis, Ingold responde a
essas questões com base em sua crítica da perspectiva hilemórfica e apoian-
do-se explicitamente nos fundamentos da fenomenologia Heideggeriana: o
espaço não está dado, não é um objeto, mas ele é criado no movimento
que desenvolve o habitar, isto é, é uma coisa (INGOLD, 2013, p. 85). “Os
objetos estão contra nós, as coisas estão com nós” (INGOLD, 2013, p. 85).
E o problema do sujeito? Os corpos são coisas? Sim, “as pessoas são coi-
sas, [...] se um artesão pensa desde os materiais, um dançarino pensa desde
o corpo” (INGOLD, 2013, p. 94). No capítulo seis, Ingold assegura que a
pessoa não é a origem de uma agência incorporada (“embodied”) no objeto,
e que a coisa “é um acontecer, ou melhor, um lugar onde vários aconteceres
se entrelaçam” (INGOLD, 2013, p. 99). Em cada encontro acontecimal,
diferentes corpos e materiais estabelecem uma relação de correspondência
naquilo que Ingold chama de “dance of animacy”: músico-violoncelo-som,
aviador-pipa-ar etc. (INGOLD, 2013, p. 100). Cada um desses corpos ou
materiais atua como transdutor dos outros, mobilizando alternativamen-
te determinadas qualidades cinéticas de cada gesto, fluido ou movimento
(INGOLD, 2013, p. 102).
Ao participar da ação, tanto quanto a fala, a mão demonstra assim seu
potencial como conhecimento. Ingold reflexiona, no oitavo capítulo, sobre
o modo como, através da prática e da experiência, somos capazes de falar
do que sabemos, “precisamente porque o dizer [“telling”] é em si mesma
uma modalidade de performance” (INGOLD, 2013, p. 109). O desenho
interessado em expressar o gesto através do qual se constitui, mais do que
aquele interessado em especificar (como o desenho do engenheiro), é um
modo de “dizer pela mão” (INGOLD, 2013, p. 125). Assim, o autor dedi-
ca o último capítulo do livro à procura de uma definição do desenhar: “um
processo de pensamento, mas não a projeção de um pensamento” (IN-
GOLD, 2013, p. 128). O desenho consiste em “cooperar com seu próprio
trabalho” (INGOLD, 2013, p. 128), isto é, participar de um processo de
correspondência em que o lápis é transdutor de um movimento que vai do
corpo ao fluxo material. Desse modo, e imediatamente depois de relem-
cadernos de campo, São Paulo, n. 24, p. 598-602, 2015
602 | Ion Fernandez de Las Heras
brar que o objetivo da etnografia é a descrição e que o da antropologia é a
transformação, expõe um enunciado essencial: “o desenho que diz descreve
a linha – é um ato gráfico – mas essa linha não é descritiva de nada mais
do que ela mesma. É, porém, transformativa” (INGOLD, 2013, p. 129).
O mundo, precisamente, compõe-se através dessas linhas. Linhas que
podem ser imaginadas não como conectores de nodos em uma rede (como
pretenderia Bruno Latour), mas como movimentos de crescimento que,
quando se encontram e enredam, geram nós em uma malha (INGOLD,
2013, p. 132). Somos mundo sendo caminho, o caminho de nosso pró-
prio conhecimento; “todo aprendizado [...] é um autodescobrimento”
(INGOLD, 2013, p. 141). Ingold começa e finaliza o livro com a mesma
exclamação: “conheça por si mesmo!” (INGOLD, 2013, p. 141).
Referências bibliográficas
ECO, Umberto. Arte e belleza nell’estetica medievale. Milão: Bompiani, 1987.
INGOLD, Tim. Lines: a brief history. Londres: Routledge, 2007.
______. Being Alive: essays on movement, knowledge and description. Londres:
Routledge, 2011.
______. Making: anthropology, archaeology, art and architecture. London:
Routledge, 2013.
LEROI-GOURHAN, André. Gesture and Speech. Cambridge: MIT Press, 1993
[1964].
PANOFSKY, Erwin. Gothic Architecture and Scholasticism. Latrobe/Pennsylva-
nia: The Archabbey Press, 1951.
SIMONDON, Gilbert. L’Individuation à la lumière des notions de Forme et d’In-
formation. Grenoble: Editions Jérome Million, 2005.
TURNBULL, David. Masons, Tricksters and Cartographers. Amsterdã: Harwood
Academic, 2000.
Autor Ion Fernandez de las Heras
Mestrando em Antropologia Social pelo Programa de Pós-Gra-
duação em Antropologia Social da Universidade Federal de São
Carlos (PPGAS-UFSCar). Graduado em Arquitetura e Urbanis-
mo pela Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
(ETSAB-UPC).
Recebido em 20/03/2015
Aceito para publicação em 15/08/2015
cadernos de campo, São Paulo, n. 24, p. 598-602, 2015
Você também pode gostar
- VERGER, Pierre Fatumbi. Casa de OxumarêDocumento160 páginasVERGER, Pierre Fatumbi. Casa de OxumarêEduardoCosta100% (3)
- Edison Carneiro Religioes Negras No Brasil PDFDocumento206 páginasEdison Carneiro Religioes Negras No Brasil PDFJúnior Alves100% (5)
- Nina Rodrigues O Animismo Fetichista Dos Negros Baianos PDFDocumento70 páginasNina Rodrigues O Animismo Fetichista Dos Negros Baianos PDFEduardoCostaAinda não há avaliações
- 313 PDF - Ocr - Red PDFDocumento370 páginas313 PDF - Ocr - Red PDFJéssica BorelaAinda não há avaliações
- Latour, Bruno - Reflexão Sobre o Culto Moderno Dos Deuses Fe (I) TichesDocumento53 páginasLatour, Bruno - Reflexão Sobre o Culto Moderno Dos Deuses Fe (I) TichesMatheus Felix100% (3)
- BRASIL. SEPPIR. Cadernos de Debates - Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana PDFDocumento62 páginasBRASIL. SEPPIR. Cadernos de Debates - Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana PDFEduardoCostaAinda não há avaliações
- Levantamento SEPPIRDocumento391 páginasLevantamento SEPPIREduardoCostaAinda não há avaliações
- Terriórios Do Axé NUER 2017Documento146 páginasTerriórios Do Axé NUER 2017EduardoCosta100% (1)
- BERRUEZO 2014 Os Candomblés Angola - Ngoma e As Sonoridades Sagradas de Matriz Banto No BrasilDocumento7 páginasBERRUEZO 2014 Os Candomblés Angola - Ngoma e As Sonoridades Sagradas de Matriz Banto No BrasilElizaGarciaAinda não há avaliações
- Intimidade EmocionalDocumento4 páginasIntimidade EmocionalTamara PassosAinda não há avaliações
- Rodada 06 Por InssDocumento66 páginasRodada 06 Por InssFelipe RosaAinda não há avaliações
- Esperanto - Adonis SalibaDocumento63 páginasEsperanto - Adonis SalibaLéo BatistaAinda não há avaliações
- Arteira 9Documento144 páginasArteira 9Ssica_AvelinoAinda não há avaliações
- Relatorio Sniffy 2Documento5 páginasRelatorio Sniffy 2Sâmela AlvesAinda não há avaliações
- 08 TODOROV Tzvetan A Conquisa Da América Cap. 1 P. 03-70 PDFDocumento37 páginas08 TODOROV Tzvetan A Conquisa Da América Cap. 1 P. 03-70 PDFAna KarolinaAinda não há avaliações
- Textos BonitosDocumento157 páginasTextos BonitosWenderMatosAinda não há avaliações
- Psicomotricidade GoleirosDocumento13 páginasPsicomotricidade GoleirosThiago NepomucenoAinda não há avaliações
- Imagem, Mídia e ViolênciaDocumento532 páginasImagem, Mídia e ViolênciaDAIANEAinda não há avaliações
- Infográfico 1Documento2 páginasInfográfico 1Adeli Beatriz BraunAinda não há avaliações
- 2764820Documento21 páginas2764820Marcelo ClaroAinda não há avaliações
- We Happy Few e Admirável Mundo Novo: Narrativas de Uma Sociedade Distópica13259-46232-1-RvDocumento16 páginasWe Happy Few e Admirável Mundo Novo: Narrativas de Uma Sociedade Distópica13259-46232-1-RvSimone C. da RosaAinda não há avaliações
- Perturbacoes Do Espectro Do AutismoDocumento93 páginasPerturbacoes Do Espectro Do AutismoIsmael CardosoAinda não há avaliações
- Hermetismo e Thelema, A Origem Da Luz.Documento4 páginasHermetismo e Thelema, A Origem Da Luz.Marcel C. Siqueira.100% (1)
- Dominio Colonial Portugues em AngolaDocumento9 páginasDominio Colonial Portugues em AngolaChumane Acacio DanielAinda não há avaliações
- Livro 19Documento16 páginasLivro 19samueldefreitas057Ainda não há avaliações
- Apontamento de Uma Plano de NegociosDocumento4 páginasApontamento de Uma Plano de NegociosluciaAinda não há avaliações
- Nina Rodrigues, Os Africanos No Brasil e A Formação Da Nacionalidade BrasileiraDocumento14 páginasNina Rodrigues, Os Africanos No Brasil e A Formação Da Nacionalidade BrasileiraanacfeAinda não há avaliações
- Adoelscência NormalDocumento5 páginasAdoelscência NormalMaristela Toyofuku Rebonato100% (2)
- 4 - Ciência e Conhecimento Científico PDFDocumento18 páginas4 - Ciência e Conhecimento Científico PDFPablo Cauã100% (1)
- Comprometimento No TrabalhoDocumento16 páginasComprometimento No TrabalhoSeth LivingstonAinda não há avaliações
- Resumo Das Principais Tendências PedagógicasDocumento3 páginasResumo Das Principais Tendências PedagógicasSilvana Silva67% (18)
- Registro de Pensamento Disfuncional - RPDDocumento6 páginasRegistro de Pensamento Disfuncional - RPDVanessa MartinsAinda não há avaliações
- Acesse Gehim-Usp: Organizadoras: Ana Paula Megiani e Marcella MirandaDocumento34 páginasAcesse Gehim-Usp: Organizadoras: Ana Paula Megiani e Marcella MirandaMarcella MirandaAinda não há avaliações
- Pré HistóriaDocumento54 páginasPré HistóriaRui BressianiAinda não há avaliações
- Atividade de HistóriaDocumento1 páginaAtividade de HistóriaÂngela MartinsAinda não há avaliações
- Texto Informativo - Texto DramáticoDocumento2 páginasTexto Informativo - Texto DramáticoDiana Ferreira91% (11)
- Analise de Conteudo e IndexacaoDocumento26 páginasAnalise de Conteudo e Indexacao100billgates100% (2)
- A Angustia, o Nada e A Morte em HeideggerDocumento5 páginasA Angustia, o Nada e A Morte em HeideggerHenrique Shody100% (1)
- A IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE QUIXERAMOBIM /CE, UM "LABORATÓRIO DE SOCIABILIDADES" 1: Seu Funcionamento, Seus Compromissos (1899-1923)Documento8 páginasA IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE QUIXERAMOBIM /CE, UM "LABORATÓRIO DE SOCIABILIDADES" 1: Seu Funcionamento, Seus Compromissos (1899-1923)Luciana FernandesAinda não há avaliações