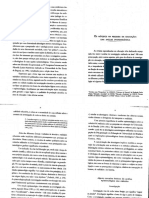Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Finalpaper TC2017040222373
Finalpaper TC2017040222373
Enviado por
HelgaPeres0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
3 visualizações8 páginasTítulo original
finalpaper_TC2017040222373
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
3 visualizações8 páginasFinalpaper TC2017040222373
Finalpaper TC2017040222373
Enviado por
HelgaPeresDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 8
1
O CINEMA VAI À ESCOLA?
QUESTÕES SOBRE A (SEMI)FORMAÇÃO ESTÉTICO-CINEMATOGRÁFICA
DE PROFESSORES
Helga Caroline Peres – Universidade Federal de São Carlos/UFSCar
(Programa de Pós-graduação em Educação)
helgacperes@gmail.com
Eixo temático: Políticas e Práticas no Ensino Fundamental.
Categoria: comunicação oral.
RESUMO
Objetivamos, no presente trabalho, problematizar a reprodução de filmes no
âmbito das práticas escolares do Ensino Fundamental I, a partir da
compreensão da forma com que professores que atuam neste segmento
escolar percebem, organizam e se relacionam com o objeto em questão.
Antevemos a existência de uma didática do filme, que é inerente e intrínseca à
intenção depositada no filme no momento de sua produção; tal didática se
diferencia da didática puramente escolar, que se preocupa em atribuir aos
filmes o caráter extrínseco de objeto didático, enquanto recurso de apoio aos
conteúdos escolares. Para que a didática fílmica seja trazida à tona, é
necessário desvelar o caráter contraditório dos filmes – pois ao mesmo tempo
em que obliteram a reflexão autônoma por integrar o âmbito das mercadorias
da indústria cultural, eles podem vir a integrar o campo da arte, que
fundamenta a reflexão crítica. Através de entrevistas semi-estruturadas
realizadas com professores do Ensino Fundamental I, buscamos compreender
os parâmetros através dos quais o filme é inserido no âmbito escolar; esta
análise nos mostrou que a principal tendência naquilo que se refere à
apropriação dos filmes na escola reflete o utilitarismo característico da didática
escolar moderna, bem como a urgência de que a formação docente abrace
uma perspectiva teórico-crítica que se direcione à experiência estética e ao
rompimento com o padrão semiformativo da estética cinematográfica
hegemônica.
Palavras-chave: didática do filme; indústria cultural; formação estética de
professores.
1. INTRODUÇÃO
O cinema nasceu como uma forma de registro procedente da aliança
entre arte e ciência e, através dos filmes, veicula um tipo de linguagem que lhe
é peculiar. Desde então, é possível compreendê-lo enquanto uma instância
formativa que “[...] inaugurou um novo tipo de educação dos sentidos, visto que
as pessoas não estavam habituadas à imagem em movimento” (LOUREIRO,
2
1996, p. 40). É possível, deste modo, entende-lo enquanto promotor de um tipo
de formação que acontece por intermédio da vivência e da experiência estética,
e que fomenta a edificação não só de valores, crenças e juízos de gosto, mas
também da sensibilidade.
Já na década de 1920 a educação formal buscou nos filmes uma
maneira de tornar o processo de aprendizagem mais atraente; defensores das
propostas escolanovistas propuseram, a partir daí, a produção de um cinema
educativo, ondem filmes seriam produzidos especificamente para o fim escolar
e poderiam, então, ser utilizados como recurso pedagógico.
Contemporaneamente, diferente da produção direcionada especificamente
para fins escolares, os filmes que adentram a sala de aula possuem formas
diversificadas – isto em consonância com as novas diretrizes educacionais que
apontam que os mais diversos aparatos audiovisuais tenham lugar cativo em
um modelo educacional adequado às tendências imagéticas que se
apresentam como nova lei hegemônica.
Objetivamos, neste trabalho, apresentar parte da discussão realizada
no trabalho de mestrado intitulado “Entre choques, cortes e fissuras – a
(semi)formação estética: uma análise crítica da apropriação de filmes na
educação escolar” (PERES, 2016), que teve como principal intento
problematizar a apropriação e reprodução de filmes no âmbito da educação
escolar. Defendemos a hipótese de que, na contramão das principais
tendências que dão vazão à utilização dos filmes enquanto recurso pedagógico
voltado para a ilustração dos conteúdos escolares, há uma didática do filme
que pode vir a potencializar um processo de reeducação de nossos sentidos já
sorvidos pelos produtos da indústria cultural. Tal didática diferencia-se da
didática escolar moderna que o qualifica enquanto mero recurso.
Cogitamos que o caráter contraditório do cinema, desvelado por
Theodor W. Adorno (1985; 1991; 1994), pode vir a exprimir não apenas um tipo
de reflexão voltada para a compreensão e contestação do caráter ideológico
dos produtos da indústria cultural, mas também para a experiência estética
propiciada pelos filmes que têm a pretensão de integrar o âmbito da arte
autônoma. Segundo Loureiro, “há na recepção do filme fissuras que, apesar de
limitadas e pressionadas pela lógica da mercadoria, podem, por exemplo, ser
potencializadas por uma reeducação dos sentidos” (2006, p. 178).
3
A partir da análise da forma com que professores do Ensino
Fundamental I planejam a utilizam dos filmes em suas aulas (PERES, 2016),
foi possível perceber que, nas práticas escolares rotineiras, a intervenção
intencional do docente cai por terra frente aos contrassensos que demarcam o
panorama semiformativo no qual as instituições educativas e os sujeitos
encontram-se mergulhados. Tal colocação delineia o caráter da própria didática
escolar que, em essência, legitima a semiformação (ADORNO, 2010), em
oposição à experiência estética que pode ser propiciada pela reflexão crítica
circunscrita à linguagem cinematográfica.
2. METODOLOGIA
A opção metodológica escolhida foi a pesquisa qualitativa, através da
realização de entrevistas semi-estruturadas individuais com quatorze
professores oriundos de quatro escolas de uma cidade do interior do Estado de
São Paulo, para que através destas fosse possível a construção de um corpus
consistente que nos permitisse analisar aquilo que havia de imanente em suas
falas; para além do comportamento manifesto, é necessário buscar as
conexões entre o todo e as partes, para que a relação entre universal e
particular seja analisada de forma dialética (PERES, 2016, p. 135). Para
subsidiar a reflexão fundamental em nossa análise, buscamos nas produções
fundamentadas na tradição da Teoria Crítica da Sociedade o apoio para
compreender os dados obtidos através da pesquisa empírica.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir da análise das falas dos professores entrevistados,
percebemos que a funcionalidade do filme na educação escolar, quando
associado aos conteúdos escolares, é ligada à possibilidade de propiciar uma
ilustração daquilo que é ensinado – função que acaba por limitar a elaboração
das representações e dos conceitos propriamente ditos. Em alguns casos,
ainda, os filmes são associados a momentos de lazer que, aos moldes daquilo
que ocorre na formação social – o tempo livre propriamente dito –, são
4
marcados pela diversão e pelo entretenimento, sendo estes fundamentais para
a manutenção da indústria cultural.
Ao passo que a mercantilização da prática pedagógica torna-se cada
vez mais vinculada aos parâmetros da indústria cultural, aquilo que é entendido
como didático é apartado de uma real intenção formativa, passando a ter como
pressuposto a facilitação dos conteúdos: “Aprender por meio de um tempero
mais saboroso” é a definição de Gruschka (2008, p. 180) para aquilo que
possui centralidade na didática moderna – os meios. Em detrimento de uma
experiência autêntica com os conteúdos escolares e, pensando mais a fundo,
com os filmes e a linguagem cinematográfica, há uma relação funcional na qual
a reflexão crítica, de fato, é deixada de lado.
Deste modo, o cinema e a linguagem cinematográfica não adentram as
salas de aula do Ensino Fundamental I; o uso de filmes, neste segmento, é
marcado por uma didática pragmática e utilitária, que se restringe ao
aproveitamento do conteúdo das narrativas fílmicas e das mensagens
veiculadas pelo filme e, articulada a uma concepção pedagógica adaptativa,
acaba por formatar de forma apriorística a compreensão dos filmes que são
exibidos. Percebe-se que o espaço para uma pedagogia voltada para a
significação das visualidades, em sentido amplo, e dos filmes, de modo restrito,
é claramente ínfimo – se não inexistente.
Outro aspecto delineado nas falas dos professores participantes
circunscreve a experiência estética com o cinema. Esta não encontra lugar nos
relatos dos professores entrevistados; nota-se, primeiramente, que o
arcabouço cinematográfico – em outras palavras, o repertório de filmes que os
professores reconhecem como bons ou ruins e com os quais possuem
proximidade – é fomentado, quase de forma exclusiva, pelos produtos fílmicos
produzidos pela grande indústria cinematográfica hollywoodiana, expressão
das ideologias da indústria cultural. Não encontramos em nenhuma fala a
presença de estéticas fílmicas alternativas à estética fílmica mainstream. Esse
fator é agravado, ainda, pela fusão dos filmes à televisão comercial, que, nos
tempos hodiernos, mostra-se como um dos principais suportes para a
veiculação de mensagens de cunho ideológico.
Aquilo que marca a experiência dos professores com o cinema denota
uma leitura unívoca e superficial dos filmes; segundo Adorno (1970), os
5
indivíduos que detém uma formação cultural considerada empobrecida
dificilmente levarão em conta o caráter enigmático das obras de arte. Isso
exprime uma relação extrínseca com a arte e, nos termos desta pesquisa, com
o cinema.
O caráter semiformativo da relação estabelecida com o cinema reside
na necrose da autêntica experiência estética, visto que a apreensão sensível é
marcada pelos esquemas da indústria cultural – que utiliza a oferta de produtos
que se mostram sempre os mesmos, perpetuando uma situação de
heteronomia que não é percebida como tal. Tem-se, aí, uma educação estética
para o mercado: “A mercantilização da cultura, o monstruoso desenvolvimento
da técnica, a miséria da vida humana levaram os indivíduos a substituírem a
experiência pela vivência, o passado pelo amanhã, o ‘inútil’ (a formação) pelo
‘funcional’ (a semiformação)” (PUCCI, 2007, p. 46).
Entendemos que este aspecto da semiformação não se restringe à
formação social, onde o professor – enquanto sujeito – também é semiformado;
ela se estende ainda à formação docente, que deixa de abordar a arte, em
geral, e o cinema, em particular, sob o escrutínio da crítica.
Daí a necessidade de uma tomada de posição decisiva no que tange à
relação dos sujeitos com a linguagem cinematográfica, fundamentada em um
processo de reeducação do olhar. Quando os professores entrevistados
relegam ao segundo plano a própria experiência estética, entendemos que se
trata de um reflexo – ou até mesmo uma consequência – da privação de um
saber estético que envolve a crítica a partir dos conhecimentos fundamentados
dos mecanismos que intensificam a semiformação. Por isso, de acordo com
Loureiro (2006), afirmamos que “[...] a educação estética que se compromete
com a negatividade em face da realidade social parece essencial na
composição de uma agenda de lutas e reivindicações da própria formação
docente” (p. 262).
A esfera da sensibilidade é um aspecto relevante do saber docente; se
tal esfera é mediada pelos produtos veiculados pela indústria cultural,
disseminados por uma mídia massiva, ela expressa uma formação inicial e
continuada ineficiente, agravada pela inserção precária ou pela falta de
inserção na vida cultural: “[...] quanto maior o repertório cultural do
professorado, mais numerosas e apropriadas serão as escolhas possíveis para
6
que este medeie a construção dos conhecimentos escolares” (ALMEIDA, 2010,
p. 19).
Ao lançarmos mão dos relatos dos professores percebemos que, ao
contrário de uma relação pautada na apreciação e na reflexão crítica que pode
trazer à tona a tensão constitutiva do cinema, feito que caracteriza a didática
fílmica, vemos que a relação dos sujeitos com este aparato restringe-se ao
aproveitamento das mensagens veiculadas pelos filmes – fato que nos mostra
uma relação cristalizada dentro dos moldes identificados por Adorno e
Horkheimer, quando afirmam ser o cinema, enquanto produto da indústria
cultural, responsável por habilitar o espectador em direção ao pensamento
reificado.
Para que as escolas de Educação Básica – instituições socializadoras
do saber elaborado – se ocupem da promoção de experiências estéticas, bem
como de uma pedagogia das visualidades (GRUSCHKA, 2015) em direção à
reeducação dos sentidos, é fundamental que a formação do professor abrace
uma perspectiva crítica que tematize a estética e a linguagem cinematográfica
de modo amplo e fundamentado, contestando o caráter da relação
estabelecida com os aparatos audiovisuais no âmbito da formação social. No
entanto, é válido questionar: haveria espaço para a reeducação estética em um
contexto de precarização e adequação da formação docente aos parâmetros
imputados por políticas voltadas para a subsunção da educação à economia?
Seria possível, neste contexto, uma educação estética envolvida com a
resistência, pautada na desconstrução das formas já cristalizadas de se
relacionar com o cinema e com os aparatos audiovisuais?
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando lançamos mão da possibilidade de os filmes possuírem um
sentido formativo ligado às suas formas produtivas – em outras palavras, a
didática do filme –, cogitamos que seu caráter contraditório, identificado por
Adorno (1994), poderia exprimir não apenas um tipo de reflexão voltada para a
compreensão e contestação do caráter ideológico dos produtos da indústria
cultural, mas também para a experiência estética propiciada pelos filmes que
7
têm a pretensão de integrar o âmbito da arte autônoma – existindo, aí, uma
possível reeducação do olhar.
Segundo Loureiro (2006), para que a reeducação dos sentidos, de fato,
seja compreendida pelo âmbito da formação escolar, é necessária uma
intervenção intencional, “[...] para um projeto que vise abalar o padrão ético e
estético dominante no campo artístico-cultural, de forma geral, e do cinema, em
particular” (p. 261). No entanto, quando nos deparamos com as falas dos
professores, percebemos que esta possibilidade cai por terra frente aos
contrassensos que demarcam o panorama semiformativo no qual estamos
mergulhados.
Temos, para esta pesquisa, que a ampliação do leque da experiência
fílmica em direção àquelas cinematografias que contestam o caráter da
produção hegemônica e sua estética agradável e familiar aos olhos é um
importante elemento para que o processo de reeducação do olhar ocorra. O
domínio dessas cinematografias é vasto: desde os cinemas nacionais que se
esforçam para colocar em voga um tipo de produção que se diferencie daquela
que é amplamente veiculada e os movimentos denominados Novo Cinema,
cuja insurgência ocorreu na década de 1960, até o cinema experimental, que
busca produzir obras que caminhem na contramão daquilo que é
massivamente produzido pela grande indústria hollywoodiana. A experiência
com estas estéticas que defendem um modelo produtivo aos moldes do cinema
de autor pode vir a constituir um elemento fundamental para a desformatação
tão necessária a um projeto de formação social e de formação docente que
vise abalar os padrões estéticos já formalizados.
O filósofo Jacques Rancière afirma que “A emancipação do espectador
é a afirmação de ver o que vê e de saber o que pensar e fazer a respeito”
(2012, p. 13). Tal colocação é o que nos provocou a refletir sobre a temática
em questão. Quando defendemos a possibilidade de que a experiência estética
com o cinema pode vir a constituir um projeto de contestação – especialmente
no âmbito da educação escolar e da formação docente –, endossamos seu
intrínseco sentido formativo de individualidades, sensibilidade, e, acima de
tudo, de um olhar crítico em relação ao papel exercido pelos mecanismos da
indústria cultural, que legitima o estado de menoridade dos sujeitos.
Esperamos que a análise aqui realizada possa contribuir, minimamente, para
8
que as intervenções e reflexões dos professores do ensino fundamental
tenham como norte uma perspectiva autenticamente formativa, especialmente
para que os entraves que nos tomam a visão tornem-se objeto de reflexão
crítica.
REFERÊNCIAS
ADORNO, T.W. How to look at television. In: _____________. The Culture
Industry: selected ensays on mass culture. London: Routledge, 1991, p.
136-153.
_____________. Notas sobre o filme. In: ______ . Sociologia. São Paulo:
Ática, 1994., p. 100-104 (Coleção Grandes Cientistas Sociais).
____________. Teoria Estética (Trad. Artur Mourão). São Paulo: Martins
Fontes, 1982.
ADORNO, T. W.; HORKHEIMER, M. Dialética do Esclarecimento. Tradução:
Guido Antônio de Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 1985.
ALMEIDA, C. M.C. Cultura e Formação de Professores. In: NOGUEIRA, M. A.
Formação Cultural de Professores. Ano XX, boletim 07, 2010.
GRUSCHKA, A. Escola, Didática e Indústria Cultural. In: DURÃO, F. A.; ZUIN,
A.; VAZ, A.F. (Orgs.) A indústria cultural hoje. São Paulo: Boitempo, 2008.
________________. Criadores de imagens: do reconhecimento visual à
comunicação visual através da pintura renascentista e pós-renascentista. In:
MAIA, A.F.; LASTÓRIA, L.A.C.N.; ZUIN, A.A.S. Teoria Crítica da Cultura
Digital: aspectos educacionais e psicológicos. SP: Nankin, 2015, p. 63-79.
LOUREIRO, R. Da Teoria Crítica de Adorno ao Cinema Crítico de Kluge:
educação, história e estética. Florianópolis: UFSC, 2006. (Tese de
Doutorado).
PERES, H. C. Entre choques, cortes e fissuras – a (semi)formação
estética: uma análise crítica da apropriação de filmes na educação
escolar. Dissertação (Mestrado em Educação Escolar), UNESP/Araraquara,
2016.
PUCCI, B. O enfraquecimento da experiência na sala de aula. Piracicaba:
Pro-posições, v. 18, n. 1 (52) - jan./abr. 2007, p. 41-50.
RANCIÈRE, J. O espectador emancipado. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012.
Você também pode gostar
- HONNETH, Axel. Luta Por ReconhecimentoDocumento147 páginasHONNETH, Axel. Luta Por Reconhecimentocalendargirl86% (7)
- Escola Crítica CriminológicaDocumento64 páginasEscola Crítica Criminológicagilhott100% (1)
- Cartilha Construcoes SustentaveisDocumento9 páginasCartilha Construcoes SustentaveisHelgaPeresAinda não há avaliações
- Dissertacao Arlete CipoliniDocumento159 páginasDissertacao Arlete CipoliniHelgaPeresAinda não há avaliações
- Tese Helga C. Peres - Versão FinalDocumento469 páginasTese Helga C. Peres - Versão FinalHelgaPeresAinda não há avaliações
- O Cinema Brasileiro PósDocumento7 páginasO Cinema Brasileiro PósHelgaPeresAinda não há avaliações
- 2013 AnaKariciaMachadoDourado VCorrDocumento216 páginas2013 AnaKariciaMachadoDourado VCorrHelgaPeresAinda não há avaliações
- Dissertacao Rubem BarrosDocumento208 páginasDissertacao Rubem BarrosHelgaPeresAinda não há avaliações
- 2010 PatriciaBarcelosDocumento141 páginas2010 PatriciaBarcelosHelgaPeresAinda não há avaliações
- 2 e 9 FOUREZ, Gérard. A Construção Das Ciências (Livro Completo)Documento161 páginas2 e 9 FOUREZ, Gérard. A Construção Das Ciências (Livro Completo)HelgaPeresAinda não há avaliações
- 13.GAMBOA, Silvio. Pesquisa em Educação Métodos e Epistemologias.Documento32 páginas13.GAMBOA, Silvio. Pesquisa em Educação Métodos e Epistemologias.HelgaPeres100% (1)
- Ebook - A Subversão Da OrdemDocumento20 páginasEbook - A Subversão Da Ordemrebeca.marques3Ainda não há avaliações
- MASS, Olmaro. A Filosofia Como Exercício de Abertura Ao Nao-IdenticoDocumento147 páginasMASS, Olmaro. A Filosofia Como Exercício de Abertura Ao Nao-IdenticoitaloAinda não há avaliações
- Horkheimer - Teoria Crítica Ontem e Hoje - Versão Do EspanholDocumento13 páginasHorkheimer - Teoria Crítica Ontem e Hoje - Versão Do EspanholBrenda VilelaAinda não há avaliações
- FICHAMENTO Teoria Crítica e Estudos em ComunicaçãoDocumento4 páginasFICHAMENTO Teoria Crítica e Estudos em ComunicaçãoJade Vieira de RezendeAinda não há avaliações
- Teoria Critica Resumo Exercício - AULAS 1 e 2Documento6 páginasTeoria Critica Resumo Exercício - AULAS 1 e 2Edineia RochaAinda não há avaliações
- Marielle FrancoDocumento8 páginasMarielle FrancoMarcela Patricia Orbe SánchezAinda não há avaliações
- Livro Texto Unidade IIDocumento23 páginasLivro Texto Unidade IICharles TeixeiraAinda não há avaliações
- Comentário Crítico 2 - Teoria Tradicional e Teoria CríticaDocumento2 páginasComentário Crítico 2 - Teoria Tradicional e Teoria CríticaLuiz SouzaAinda não há avaliações
- Teoria Critica Influencias Na Politica D PDFDocumento31 páginasTeoria Critica Influencias Na Politica D PDFBruno FugaAinda não há avaliações
- A Produção Da Sociedade Pela Industria CulturalDocumento24 páginasA Produção Da Sociedade Pela Industria CulturalosvaldofpceAinda não há avaliações
- Programa de Disciplina - Antropologia Da ArteDocumento4 páginasPrograma de Disciplina - Antropologia Da ArteThomás MeiraAinda não há avaliações
- Interseccionalidade Capitulo 7Documento22 páginasInterseccionalidade Capitulo 7Katia EspíndolaAinda não há avaliações
- O Pós-Estruturalismo e Os Estudos Críticos de Gestão: Da Busca Pela Emancipação À Constituição Do SujeitoDocumento20 páginasO Pós-Estruturalismo e Os Estudos Críticos de Gestão: Da Busca Pela Emancipação À Constituição Do SujeitoMorgana de Freitas Guaitolini MinterAinda não há avaliações
- A Identidade Cultural Na Pós Modernidade Scribd - Pesquisa GoogleDocumento6 páginasA Identidade Cultural Na Pós Modernidade Scribd - Pesquisa GoogleLuiz Ricardo PaulukAinda não há avaliações
- Aula 02Documento70 páginasAula 02daps100% (1)
- Psico Socio HistoricaDocumento59 páginasPsico Socio HistoricakatrineunivapAinda não há avaliações
- A - PROGRAMA DO CURSO - Teoria Sociológica III - Prof. Edemilson Paraná - 2022-1Documento13 páginasA - PROGRAMA DO CURSO - Teoria Sociológica III - Prof. Edemilson Paraná - 2022-1Victória NobreAinda não há avaliações
- De La Necesidad y Urgencia de Seguir Queerizando y Trans-Formando El Feminismo. Unas Notas para El Debate Desde El Contexto EspañDocumento13 páginasDe La Necesidad y Urgencia de Seguir Queerizando y Trans-Formando El Feminismo. Unas Notas para El Debate Desde El Contexto EspañBastet BastAinda não há avaliações
- SAMPAIO OLIVEIRA, Murilo Carvalho. Serviço de Apoio Jurídico - SAJU. A Práxis de Um Direito CríticoDocumento74 páginasSAMPAIO OLIVEIRA, Murilo Carvalho. Serviço de Apoio Jurídico - SAJU. A Práxis de Um Direito CríticoUtidaAinda não há avaliações
- Apostila Completa Organização Curricular e InovaçãoDocumento84 páginasApostila Completa Organização Curricular e Inovaçãojany SantosAinda não há avaliações
- A Trajetória e Os Paradigmas Da Teoria Da ComunicaçãoDocumento39 páginasA Trajetória e Os Paradigmas Da Teoria Da ComunicaçãoCandra Martins de AlmeidaAinda não há avaliações
- Uma Nova Antropologia Unidade Critica e Arranjo Interdisciplinar Na Dialetica Do Esclarecimento 9809Documento22 páginasUma Nova Antropologia Unidade Critica e Arranjo Interdisciplinar Na Dialetica Do Esclarecimento 9809Clodoaldo BastosAinda não há avaliações
- CALDAS e BERTERO - Teoria Das OrganizaçõesDocumento32 páginasCALDAS e BERTERO - Teoria Das OrganizaçõesVitor Correa da SilvaAinda não há avaliações
- Livro-De-Resumos 8mtcc OnlineDocumento34 páginasLivro-De-Resumos 8mtcc Onlineapi-461501799Ainda não há avaliações
- BUENO Sinésio Ferraz - 2021 - Adorno - o - Fascismo - e - o - MalDocumento276 páginasBUENO Sinésio Ferraz - 2021 - Adorno - o - Fascismo - e - o - MalRobson LoureiroAinda não há avaliações
- O Campo Científico Da Administração - Uma Análise A Partir Do Círculo Das Matrizes TeóricasDocumento15 páginasO Campo Científico Da Administração - Uma Análise A Partir Do Círculo Das Matrizes TeóricasketllepAinda não há avaliações
- Layout Dental Amil J Cruz IndustriaDocumento12 páginasLayout Dental Amil J Cruz IndustriaCláudia AraújoAinda não há avaliações
- Sociologia Iv PDFDocumento60 páginasSociologia Iv PDFSaimon LimaAinda não há avaliações