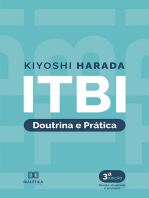Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Fichamento
Enviado por
Nayara Aline Schmitt AzevedoDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Fichamento
Enviado por
Nayara Aline Schmitt AzevedoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
DEPARTAMENTO DE DIREITO
NAYARA ALINE SCHMITT AZEVEDO
FICHA-RESUMO
SÍNTESE DE UMA HISTÓRIA DAS IDÉIAS JURÍDICAS:
DA ANTIGÜIDADE CLÁSSICA À MODERNIDADE
Florianópolis, 29 de junho de 2009.
Ficha-resumo
WOLKMER, Antonio Carlos. Síntese de uma História das Idéias Jurídicas: da
Antigüidade Clássica à Modernidade. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006.
A obra Síntese de uma História das Idéias Jurídicas: da Antigüidade Clássica à
Modernidade, de Antonio Carlos Wolkmer, aborda de maneira sucinta a produção
jurídica do Ocidente, destacando as idéias dos pensadores mais relevantes de cada
momento histórico a respeito de temas recorrentes como liberdade, igualdade e justiça.
O livro adota uma organização cronológica bastante didática e, ao tratar de um
novo período, traz também o contexto sociopolítico da época e as concepções ou
‘verdades’ então vigentes, demonstrando assim a estreita ligação entre as idéias
jurídicas e o modo de vida segundo o qual cada autor viveu.
O capítulo I, intitulado “As Origens do Pensamento Jurídico na Antigüidade
Clássica” trata inicialmente dos gregos, fundadores da filosofia ocidental e de suas
idéias acerca de direito e justiça, destacando o trabalho de grandes filósofos. Em
seguida, aborda o pensamento de Cícero, já no contexto da Roma Antiga.
Não há uma definição do pensamento jurídico grego antes do século II a.C. e
mesmo depois, os gregos não conceberam “[...] uma reflexão jusfilosófica mais
acabada.” (p. 14) Ao contrário dos romanos - que se preocupavam mais com questões
de ordem prática – os gregos preferiam as discussões sobre os “[...] fundamentos da
idéia de justiça como universalidade.” (p. 14) Porém essa visão não elimina a origem
divina da justiça, presente em escritos dos tempos homéricos.
Em relação ainda ao Direito justo, é preciso destacar a peça Antígona de
Sófocles, que trata do conflito entre a lei dos deuses ou direito familiar e a lei dos
homens ou do Estado. Ao contar a história da heroína, que decide enterrar o irmão,
mesmo contra a vontade do rei e por isso é condenada à morte, Sófocles defende um
Direito natural e “[...] problematiza o eterno dilema do ser humano que luta contra a
injustiça pela defesa de um Direito à liberdade de consciência e ao respeito à dignidade
humana.” (p. 17 -18)
Os sofistas foram os primeiros a romper com a concepção do naturalismo
cósmico no século V a. C. Para eles, a lei não era natural, mas sim a expressão da
vontade de quem governava, ou seja, uma convenção humana. Também Sócrates, Platão
e Aristóteles se preocuparam com o homem.
Sócrates acreditava que uma lei é sempre justa e que, por esse motivo, deve-se
obediência a ela, mesmo que ela seja esteja errada.
Platão, discípulo de Sócrates, foi o primeiro a pensar racionalmente sobre a
justiça ao descrever, na obra A República, um Estado ideal que iria promovê-la. Embora
“Platão designe esporadicamente a justiça como algo divino, não a situa como
obrigatoriedade de dimensão meramente religiosa.” (p. 20) Segundo ele, a verdadeira
justiça se expressa tanto no âmbito individual quanto no coletivo, pois é o cumprimento
da função que cada pessoa tem na sociedade. Trata-se, portanto, de uma concepção
formalista, cuja “incidência se situa na esfera moral societária [...].” (p. 22)
Em suas outras obras – O Político e As Leis – Platão discorre, respectivamente, a
respeito da utilidade do Direito e da função da legislação para uma cidade, admitindo “o
valor educativo da lei enquanto instrumento ético.” (p. 22)
Aristóteles acreditava que o homem era um ser político por natureza e como tal
deveria viver integrado aos outros homens na cidade. Essa concepção aparece tanto em
sua ética quanto em sua filosofia político-jurídica.
No livro V de Ética a Nicômaco, ele trabalha a questão da justiça e, ao afirmar
que existem diferentes tipos de comportamento humano, classificando-os em não-
naturais e recomendáveis, Aristóteles dá “uma definição do fim da atividade jurídica. É
a porta da doutrina do Direito.” (VILLEY apud WOLKMER, 2006, p. 24)
Inicialmente, tem-se uma concepção formal da justiça, que seria a intermediação
entre dois extremos. A seguir, Aristóteles traz os conceitos de justiça total – a lei deve
ser obedecida para o bem de todos – e de justiça particular – relação entre as partes. Ele
também diferencia justiça distributiva – distribuição de bens, de modo proporcional,
entre os membros de uma comunidade – e justiça corretiva – como o nome diz, trata da
correção. Por fim, Aristóteles tratou da justiça política, dividida entre o justo natural
político, que não depende da vontade dos homens, mas é imanente a cada comunidade e
o justo legal político, que se torna obrigatório através do legislador. Cabe destacar que
ao vincular o princípio da justiça aos homens iguais, ele ignorou mulheres, escravos e
outros.
Após a morte de Aristóteles, podem ser verificadas três correntes de pensamento
grego: cínica, estóica e epicuréia. Os primeiros podem ser caracterizados por negarem o
Estado; os estóicos requerem “uma lei natural universal e suprema, emanada da razão
[...]” (p. 28) enquanto Epicuro acredita que justiça é um conceito relativo, útil à
convivência humana.
A parte final do primeiro capítulo é dedicada a Roma. Os romanos eram mais
práticos do que os gregos e, por isso, tinham grande interesse no Direito. Pode-se dizer
que o primeiro grande filósofo do Direito foi romano: Cícero, o qual tinha grande
habilidade em adaptar os temas ético-filosóficos discutidos pelos gregos à cultura
romana.
Sua obra De Republica era sobre a melhor ordem política enquanto De Legibus
tratava dos aspectos jurídicos de tal regime. Cícero, no Livro I de Das Leis, numa
perspectiva estóica, defende uma razão reta, preexistente, imutável, válida para todos os
homens em todas as comunidades ao longo dos tempos. Ele também afirma que os
homens nasceram para a justiça e que o direito se baseia na natureza, a qual não é
externa ao homem, mas sim sua própria essência, ou seja, a razão.
Nos Livros II e III, Cícero reconhece as leis dos homens, “inventadas para
segurança dos cidadãos, para a preservação dos Estados e a tranqüilidade e felicidade da
vida humana [...]” (CÍCERO apud WOLKMER, 2006, p. 35) e especifica a organização
e administração judiciária romana, respectivamente.
O capítulo II estuda o pensamento jurídico da Idade Média. Esse período
histórico é marcado inicialmente pelo fim do Império Romano do Ocidente em 476 d.
C., pela sociedade feudal e pela consolidação do cristianismo.
As doutrinas da Igreja Romana dominaram tanto a filosofia quanto a política e
produziram um pensamento jusfilósofico próprio: espiritual e ortodoxo, diferente da
concepção cósmica dos gregos e romanos. Mas a herança da antiguidade não foi
abandonada, porque os autores clássicos influenciaram, por exemplo, as obras de Santo
Agostinho (Patrística) e de Santo Tomás de Aquino (Escolástica).
O pensamento cristão contribuiu especialmente para a evolução dos direitos
humanos porque tratava da dignidade da pessoa humana e da fraternidade universal.
Além disso, o Novo Testamento trazia certas idéias sobre governo, autoridade, lei
humana e obediência:
“[...] a concepção cristã de governo e de autoridade legal se baseia numa
filosofia do Direito divino, em que o poder constituído provém de Deus, que dá
legitimidade aos governantes, competindo ao povo escolhido a obediência e a
subordinação às autoridades em exercício.” (p. 42)
O cristianismo, portanto, distinguia questões espirituais de temporais e o cristão
tinha o duplo dever de obedecer a Deus e ao homem. Essa concepção rompia com a
visão romana da dedicação total ao Estado. A Igreja não era um mero acessório estatal.
Além disso, a obediência a Deus deveria prevalecer sobre a obediência ao homem, ou
seja, a Igreja defendia a “supremacia do poder espiritual e da autoridade eclesiástica
sobre a laica” (p. 43), o que gerou conflitos entre Imperadores e Papas.
Antes, porém, de tratar do pensamento jusfilosófico da Idade Média, cabe
comentar o direito produzido na fase de decadência do Império Romano, ou seja, no
Baixo Império (235 – 476 d.C.). A legislação produzida pelos imperadores era a
principal fonte de direito. Nesse sentido, é preciso destacar o Corpus Juris Civilis de
Justiniano (527 – 565), uma reunião dos códigos dos imperadores e do trabalho dos
jurisconsultos clássicos, que pretendia simplificar e uniformizar a legislação. A obra foi
dividida em quatro partes principais, dentre as quais evidenciamos o Digesto.
O Digesto era a síntese do pensamento dos jurisconsultos clássicos,
principalmente Ulpiano, Paulo, Papiniano e Gaio. Os dez primeiros livros da primeira
parte do Digesto tratam da “questão da condição humana perante o Direito natural, a
justiça, as leis positivas e as garantias jurídicas [...].” (p. 49)
Segundo o Digesto, o Direito natural é próprio dos animais e não dos homens. O
direito dos homens é o Direito das gentes, com o qual se iniciou a escravidão e “[...]
advém das leis, plebiscitos, senatus-consultos, decretos dos príncipes e da autoridade
dos prudentes.” (JUSTINIANO apud WOLKMER, 2006, p. 49 - 50) No Digesto
aparecem também os conhecidos preceitos da cultura jurídica romana: “viver
honestamente”, “não lesar outrem” e “dar a cada um o seu”.
O Digesto revela, em questões como a regulação da escravidão e a tutela da
mulher pelo homem um “direito positivo eficiente, mas discriminador e conservador”
(p. 50). Por outro lado, reconhece determinados princípios de proteção ao ser humano,
admitindo, por exemplo, o início da vida a partir da concepção e afirmando que o
senhor não deve maltratar demasiadamente seus servos.
Já na Idade Média, o Direito romano passa por crises e perde sua posição
dominante. Nesse período, como mencionado anteriormente, é muito forte a presença do
cristianismo e, podem ser identificadas duas fases: a Patrística (século II ao século VI) e
a Escolástica (século XI ao século XIV).
A primeira é conhecida como Patrística em referência aos pais da Igreja - Padres
Apologistas – e teve como principal representante Santo Agostinho, que estruturou sua
doutrina teológica, baseada na fé, na filosofia de Platão e nos ensinamentos de São
Paulo. Suas obras principais são Confissões e Cidade de Deus, em que se manifesta:
“[...] o dualismo maniqueísta da cidade celestial que, corporificada pela Igreja, se
ocupará dos interesses espirituais e reinará soberana sobre seus inimigos e da cidade
civil identificada com o Estado temporal que se encarregará das coisas materiais” (p. 54
-55)
Assim, a obra agostiniana fornece as bases de uma doutrina inicial de Estado,
submetido à Igreja e apresenta uma teoria em que o cristianismo e as concepções
clássicas de lei se harmonizam. Para Santo Agostinho, a lei fundamental é a lei divina,
eterna, cuja manifestação na consciência humana é a lei natural, base para a lei positiva.
Ainda segundo ele, leis injustas não são leis e a justiça, cuja concepção engloba agora
também o crer em Deus, só se manifesta na esfera do cristianismo.
Entre os séculos XI e XV, no período conhecido por Baixa Idade Média, o
sistema feudal entra em crise, ocorre o Cisma do Oriente, a “questão das investiduras”,
as cruzadas, a expansão comercial, o crescente fortalecimento das monarquias nacionais
e da secularização na política. Nesse contexto, surge a Escolástica, corrente filosófica e
teológica que objetivava “demonstrar, por um raciocínio lógico formal, a autenticidade
dos dogmas cristãos” (POKROVSKY apud WOLKMER, 2006, p. 59), cujo grande
representante foi Santo Tomás de Aquino.
Santo Tomás retomou o pensamento de Aristóteles; acreditava que o homem
deveria se basear na razão. Sua obra Suma Teológica está dividida em Tratado das Leis
e Tratado da Justiça. Na primeira parte, ele trata da essência das leis e suas
características, afirmando que a lei deve ser fundamentada na razão e não na vontade.
Faz ainda uma distinção entre a lei eterna – “razão suprema existente em Deus”,
superior às demais leis –, a lei natural – manifestação da lei eterna nos homens –, a lei
humana – derivada da lei natural, organizada pela sociedade e baseada nos costumes – e
a lei divina ou religião – “revelação proveniente das Sagradas Escrituras, destinada a
sanar as imperfeições das leis dos homens.” (p. 64)
Na segunda parte, Santo Tomás de Aquino afirma que a justiça legal não é igual
à justiça geral, mas tenta aproximar-se dela; ou seja, o direito “[...] procura materializar,
na comunidade, a justiça que advém da razão divina e da razão natural.” (p. 65)
Distingue ainda a justiça comutativa (entre duas pessoas) da distributiva (entre a
comunidade e seus membros).
Após a morte de Santo Tomás, entre os séculos XIV e XV, com o processo de
secularização da política mais acentuado, surgem pensadores como Marsílio de Pádua,
que criticou severamente a Igreja e os papas, rompendo com a cultura então vigente. Em
sua obra O Defensor da Paz ele separa radicalmente a lei humana da lei divina,
afirmando que a lei é: “[...] um enunciado ou princípio que procede duma certa
prudência e da inteligência política [...], um preceito estatuído para ser observado, o
qual se deve respeitar.” (PÁDUA apud WOLKMER, 2006, p.71)
Em outras palavras, para ele, a lei deriva do próprio corpo de cidadãos e tem por
objetivo primeiro o bem comum. Além disso, o julgamento deve ser baseado na lei e
não no arbítrio. Por suas idéias, Marsílio de Pádua é considerado precursor do
positivismo jurídico.
Ao final do capítulo, o autor também destaca os escritos de Guilherme de
Occam, que, “[...] sustentado no empirismo nominalista (‘a razão prática como
expressão da vontade pura’) [...]” (p. 75), proclama “[...] limitações às atribuições do
Pontífice romano no plano espiritual.” (p. 75)
No terceiro capítulo, intitulado “Esboço da Tradição Jurídica na América Luso-
Hispânica”, o autor discorre sobre o período da colonização da América pela Espanha e
Portugal, no qual “predominou a reprodução de uma cultura jusfilosófica e de um
aparato jurídico corporativo [fragmentado], patrimonialista [sem distinção de limites
entre o público e o privado] e repressivo”. (p. 77) O autor destaca ainda na introdução
que, mesmo depois da independência das colônias, não surgiu uma filosofia jurídica
autêntica e a estrutura sócio-política continuou elitista e excludente.
Com a “descoberta” da América e posterior demarcação das colônias, surgiu a
necessidade da implantação de um sistema jurídico eficaz que regulamentasse e
garantisse a transferência das riquezas para as metrópoles na Europa. Inicialmente, foi
adotada a legislação já existente, com o predomínio do Código das Siete Partidas
(1256-1265) e da Lei de Toro (1505).
Num segundo momento, a partir de reivindicações humanistas, surgiu também
um novo Direito, que pretendia atender e harmonizar três fatores: “os interesses
econômicos e políticos da coroa; a política de lucro e riqueza dos conquistadores e ‘a
evangelização e bom trato aos índios’.” (TORRE RANGEL apud WOLKMER, 2006, p.
80)
Ente os séculos XVI e XVII, as principais fontes do direito aplicado nas colônias
são o direito espanhol, as capitulações (acertos contratuais entre participantes ou dhefes
de expedição) e as instruções (diretrizes de administração civil e militar). Porém, diante
do genocídio dos índios e das denúncias feitas por religiosos, as metrópoles elaboraram
uma nova legislação representada pelas Leis de Burgos (1512) e pelas Leis Novas
(1542).
As Leis de Burgos reconheciam que os índios eram livres e mereciam um
tratamento humano, além de determinarem como deveria ser a relação entre os nativos e
os colonizadores. Já as Leis Novas, estabeleciam a proteção aos indígenas, limites ao
poder dos colonizadores e o fim das conquistas privadas sem autorização da coroa.
Eram, portanto, a prova da vitória do humanismo cristão e “[...] sintetizavam o último
intento da Coroa Espanhola para conter as tendências desumanizadoras do processo da
conquista.” (p. 82) Mas muitos colonizadores se opuseram a elas por interesses políticos
e, assim, não foram eficazmente aplicadas.
Com a finalidade de esclarecer o que foi o humanismo cristão e sua importância
para a legislação das colônias luso-hispânicas, o autor discorre primeiro a respeito do
humanismo jurídico, que surgiu na Europa no final da Idade Média. Essa corrente
filosófica, que se desenvolveu influenciada pelo individualismo e pelo racionalismo,
questionou a tradição escolástica e voltou-se para a investigação das fontes do Direito
romano. Desse modo, “favoreceu a superação de interpretações consideradas
demasiadamente pragmáticas e a valorização da pesquisa crítica histórica [...]”. (p. 84)
Já o humanismo cristão se manifestou principalmente depois que os Reis
Católicos oficializaram seu posicionamento em relação às Índias Ocidentais através do
Requerimento (1514), no qual ficava instituída a intervenção espanhola nas Índias e que
legitimava a guerra caso os nativos não aceitassem a presença dos colonizadores.
Os humanistas cristãos como Bartolemé de las Casas se baseavam no Direito
natural e defendiam a liberdade e dignidade aos gentios, “não reconheciam o poder total
do papa e a pretensão universal de jurisdição dos monarcas sobre os nativos.” (p. 85)
Bartolomé de las Casas, bispo de Chiapas, criticou o Requerimento, denunciou o
genocídio dos indígenas e lutou por uma legislação mais protetora. Sua obra expressa
um projeto de convivência pacífica entre todos os povos e, por isso, pode ser
considerado “‘o precursor do conceito moderno pluralismo racial, cultural, político,
religioso’ e jurídico.” (LOSADA apud WOLKMER, 2006, p. 87)
Cabe destacar ainda que nos séculos XVI e XVII, muitos pensadores
readequaram os princípios do Direito natural ao seu contexto social e, em especial, os
teólogos-juristas da Escola de Salamanca debateram sobre a necessidade de uma
legislação mais justa nas colônias, que respeitasse o direito à liberdade dos indígenas.
Dentre esses pensadores, sobressaiu-se Francisco de Vitória, crítico da administração
espanhola, preocupado “[...] em proteger a condição de vida e de existência com
dignidade das nações nativas.” (p. 87)
Na sociedade moderna podem ser distinguidos dois momentos da crítica
humanista: o primeiro é a manifestação de um humanismo que se opõe ao modelo
jurídico-penal e processual ligado à Inquisição. Ambos se valiam de uma justificativa
jusnaturalista, mas a Inquisição tinha ênfase teológica, enquanto o Iluminismo tinha um
caráter humanitário. O segundo momento se segue às codificações do século XIX: a
crítica humanista recai sobre o positivismo jurídico, que legitimou “uma cultura liberal-
individualista desumanizadora, ocultando as desigualdades sócio-econômicas da
estrutura capitalista de poder.” (p. 90) É, portanto, uma crítica à ditadura da lei.
Porém, nas colônias luso-hispânicas, a aplicação do humanismo não representou
uma grande transformação. O legado recebido pelas colônias de Espanha e Portugal foi
uma estrutura sociopolítica “biclassista, autoritária, tradicional, elitista, patrimonial,
católica, estratificada, hierárquica e corporativa” (WIARDA apud WOLKMER, 2006,
p. 92), semelhante à das metrópoles. Nesse sentido, é preciso destacar que os grandes
movimentos revolucionários da modernidade como o Renascimento e a Reforma
Protestante causaram pouco impacto na Península Ibérica.
Assim a cultura colonial brasileira reproduziu os valores tradicionais lusitanos, a
estreita ligação entre Estado e Igreja, um humanismo abstrato, erudito e racionalista. A
partir, porém de fatores internos e externos, o Brasil conquistou sua independência, o
que expressa um humanismo mais concreto.
Porém, a independência das colônias não representou uma ruptura total com
Portugal e Espanha nem uma mudança da estrutura interna tradicional de caráter
corporativo e patrimonialista. Houve apenas uma adequação das doutrinas modernas
como o liberalismo econômico ao antigo sistema.
Portanto, ao tratar da cultura jurídica latino-americana, é preciso: “[...] ter em
conta a herança colonial luso-hispânica (e suas respectivas raízes romano-germânicas) e
os processos normativo-disciplinares provenientes da modernidade capitalista, liberal-
individualista e burguesa.” (p. 95)
O autor destaca ainda que mesmo com a neutralidade científica pregada pelo
positivismo presente nos códigos, a América Latina ainda se caracteriza por um
executivo de caráter imperialista, o que debilita o legislativo e o judiciário. Além disso,
nossos textos legais continuam representando os interesses de uma elite agora
influenciada pela cultura anglo-saxônica.
O quarto e último capítulo do livro intitula-se “Evolução das Idéias
Jusfilosóficas na Modernidade do Ocidente”. Ele trabalha, inicialmente, o contexto
histórico da Idade Moderna, destacando as grandes transformações que ocorreram nas
“[...] esferas econômica, social, política, científica e religiosa ao longo do período que
vai do século XV ao XVIII” (p. 100) e que estão vinculadas à cultura jurídica. Trata
ainda das duas principais correntes do Direito: o jusracionalismo e o juspositivismo.
No âmbito econômico, o início da Modernidade se caracteriza pela transição do
feudalismo – agricultura de subsistência e regime de servidão – para o capitalismo
mercantil, que se desenvolveu primeiramente no norte da Itália (século XIII) e, depois
dos séculos XVI e XVII, abrangia quase toda a Europa.
A sociedade também se modificou com o surgimento de um novo segmento: a
burguesia, caracterizada pela propriedade dos meios de produção e, posteriormente,
através de processos revolucionários, pela hegemonia política. Os burgueses eram
principalmente artesãos e mercadores que viviam no meio urbano, embora também
houvesse uma pequena burguesia campesina e uma burguesia profissional (médicos e
advogados).
Em relação aos aspectos políticos, observa-se a progressiva centralização do
poder, a crescente nacionalização das monarquias e, como conseqüência, o surgimento
do Estado moderno. “A organização centralizadora de poder que se institui sob a forma
secularizada monárquica de Estado absolutista transforma-se no Estado nacional, liberal
e representativo do século XVIII [...]” (p. 105)
As transformações também ocorrem no campo da ciência – através dos estudos
de cientistas como Copérnico, Galileu e Newton – como também no plano teológico,
com o movimento de reformas e a diminuição do poder da Igreja como guia da
humanidade. De modo geral, a modernidade pode ser entendida como um processo
generalizado de racionalização, que se reflete também no Direito.
O Direito moderno europeu tem sua origem na tradição dos diversos tipos de
Direito existentes na Idade Média. Do Direito romano, ficou o legado de “uma forma de
burocracia, de organização administrativa e financeira [...]”. (p. 107) Outro fator
determinante foi a Igreja Católica, que após o fim do Império romano assumiu funções
públicas, sociais e morais. Por fim, cabe destacar que o ensino elementar com base em
gramática, lógica e retórica foi influência da prática escolar da Antigüidade.
No cenário de rupturas da Idade Moderna, o Direto romano se mostra mais
adequado a esse período de centralização, racionalização e secularização do que as
práticas legais medievais. Porém o Direito moderno difere do romano por ser mais
sistematizado e exato. “[...] um dos traços marcantes do Direito moderno emergente
entre o século XVI e o XVII está na íntima relação do Direito com o poder estatal e na
sua identificação com a lei escrita.” (p. 109)
A secularização crescente provém de movimentos como o Renascimento e a
Reforma Protestante. O Renascimento, movimento cultural e humanista, surgiu na
Itália, no século XV e atingiu seu auge no XVI. “[...] é a celebração do humano como
força autônoma e racional, desvinculada de todas as restrições transcendentais que
inviabilizam a criatividade do pensamento e a liberdade da prática objetiva.” (p. 110)
A partir de sua concepção antropocêntrica do mundo, o Renascimento entende a
sociedade como construção artificial humana.
Em oposição ao humanismo tem-se a Reforma Protestante, que, ao defender a fé
cristã como único meio de salvação, ao negar o livre-arbítrio e ao afirmar a
predestinação, revela seu desprezo pelo racionalismo. Deve-se, entretanto, ressaltar que,
em um segundo momento da Reforma, ela adotou uma postura mais moderna.
Relativamente às leis e à questão da justiça, a preocupação dos reformadores, de
modo geral, “[...] não era a liberdade do homem político, mas a do sujeito cristão,
inspirado nas Sagradas Escrituras; era a autonomia do cristão diante da lei objetiva e sua
submissão à lei como expressão que revela a vontade de Deus.” (p. 115) Para Lutero, as
leis positivas só eram necessárias aos cristãos ‘desgarrados do rebanho’. Já as idéias de
Calvino são mais adequadas ao Direito.
O protestantismo contribuiu “na gênese do Capitalismo moderno, na formulação
da mentalidade livre individualista, na valoração da consciência moral, na contribuição
da filosofia dos direitos humanos e, fundamentalmente, no impulso para a moderna
concepção de jusnaturalismo.” (p. 116) Ou seja, embora tivessem muitos pontos de
divergência, o Humanismo e a Reforma tinham preocupações comuns.
Em relação ao humanismo no campo jurídico, tem-se o questionamento da
utilização do latim e dos métodos de ensino dos Comentadores, aspectos da cultura
jurídica medieval. Há também um interesse maior por princípios jurídicos
sistematizados. Os humanistas voltaram-se para o estudo e reconstrução dos textos
clássicos e defenderam uma interpretação mais autônoma da lei. Eles elaboraram um
direito teórico em contraposição ao direito prático dos Comentadores; criticaram a
ausência de métodos dos juristas anteriores e defenderam a preservação do Corpus
Juris.
Na seqüência do capítulo, o autor aborda a origem e o desenvolvimento das
escolas jusracionalistas do século XVI ao XVIII, destacando a importância dos
processos de secularização, racionalização e individualização (interligados e
relacionados ao naturalismo) para a compreensão da modernidade e dos conceitos de
estado de natureza, contrato social e sociedade civil.
O primeiro ponto dentro dessa abordagem trata da Escola Clássica Espanhola,
ou Segunda Escolástica, que representou a “[...] intermediação e a passagem do Direito
natural teológico para a doutrina do jusnaturalismo racionalista.” (p. 124)
Nos séculos XVI e XVII, a Espanha necessitava de um modelo normativo para
ser aplicado nas colônias: um Direito internacional fundado num novo Direito natural,
adequado à tradição da moral cristã e do jusnaturalismo teocêntrico. Assim, um grupo
de teólogos-juristas (dominicanos e jesuítas) gerou, na Universidade de Salamanca, um
intenso debate sobre política, filosofia, direito e teologia, sem, entretanto, abandonar os
preceitos da escolástica e do tomismo.
Dentre esses pensadores, destacou-se Francisco de Vitória (1480 – 1546), que
acreditava em uma lei natural comum a todas as pessoas, fossem elas cristãs ou pagãs e
que, por isso, condenava a chamada ‘guerra justa’ empregada pelos espanhóis para
legitimar a ocupação dos territórios indígenas, a escravização e o massacre dos nativos.
Outro expoente dessa escola foi Francisco Suarez (1548 – 1617), que identificou
Deus como legislador e afirmou que a verdadeira lei natural é divina. Ele ainda tratou da
“questão do poder político como vontade natural do povo e como manifestação social
da comunidade, ainda que a fonte última estivesse em Deus [...]” (p. 129), sendo
considerado precursor do contratualismo.
Depois, o autor discorre sobre a Escola Clássica do Direito Natural Racionalista,
que se estendeu do início do século XVII até o fim do século XVIII, trazendo mais uma
vez os fatores que contribuíram para a consolidação do jusracionalismo, dentre os quais
podem ser destacados o humanismo, a decadência da escolástica, o progresso científico
e a valorização da matemática.
“[...] o modelo de juridicidade que se constrói passa a associar-se não mais com
a idéia de ius, mas da lei formalizada e positivada, bem como com a idéia de segurança
social e de unificação do poder político.” (p. 130) Os jusracionalistas desenvolveram
suas teorias a partir de pressupostos comuns: o estado de natureza – ausência do Estado
e de leis, exceto as naturais; contrato social – diferentes interpretações, que conduzem
ao absolutismo ou a uma concepção política liberal e sociedade civil – Estado moderno.
Por compreender um período bastante amplo da história ocidental, o
jusracionalismo se caracteriza por autores e perspectivas diferenciadas. O primeiro
pensador comentado é Hugo Grócio (1583-1645), holandês, “personagem de transição
entre a tradição escolástica e as tendências racionalistas de seu tempo” (p. 134) e autor
de O Defensor da Paz, obra em que defende um direito acima das monarquias
nacionais. Por isso, ele também é considerado o criador do Direito Internacional
moderno.
Grócio analisa o direito das gentes e o divide em “[...] ius inter gentes (o direito
das gentes natural) e em ius gentium (direito das gentes tradicional e positivo, expresso
nos tratados e nos costumes.” (p. 135) Seu trabalho, no entanto, é questionado como
pioneiro, porque suas bases teriam sido dadas pelos pensadores de Salamanca. Ainda
assim, a obra de Grócio contribuiu para o processo de secularização, porque ele se
preocupou com um Direito natural concreto, “deduzido da natureza racional e social do
homem.” (p. 137)
Na Inglaterra do século XVII, marcada pela Revolução Gloriosa de 1688, foram
desenvolvidas duas tendências opostas dentro do paradigma do Direito natural racional:
uma defendia a monarquia absolutista; a outra era liberal. O principal defensor da
primeira tendência foi Thomas Hobbes (1588–1679), autor de Leviatã.
Para Hobbes, no estado de natureza, todos os homens têm direito sobre todas as
coisas. Por isso, ele é também um estado de guerra, no qual os homens não têm
segurança contra uma morte violenta. Os homens contratam e instituem um soberano a
fim de garantir uma vida boa. O soberano, segundo Hobbes, está acima das leis, é
absoluto, porque a lei é a sua palavra, positivada por sua vontade e ninguém pode se
obrigar consigo mesmo. Já as chamadas leis naturais do estado de natureza obrigariam
apenas em foro interno, ao nível da consciência; seriam regras de condutas e não
propriamente leis.
A segunda tendência tem como principal representante John Locke (1632–
1704), autor Dos Tratados sobre o Governo. Segundo ele, o estado de natureza é um
estado de plena liberdade e igualdade, no qual o homem tem direito à propriedade –
vida, saúde, liberdade, trabalho e bens – e segue a lei da natureza, que é a lei da razão.
Mas as paixões dos homens fazem com que se instaure o estado de guerra. A fim de
evitá-lo e preservar a propriedade, os homens contratam, instituindo uma autoridade
pública, limitada pela lei. A teoria de Locke atendia às aspirações da classe média
ascendente. (p. 140 – 141)
O autor trata ainda do jusnaturalismo racionalista na Alemanha, entre os
séculos XVII e XVIII. Leibniz (1646–1716) formulou uma teoria idealista do Direito
natural, que seria “um sistema de idéias eternas” (FRIEDRICH apud WOLKMER,
2006, p. 143). Além dele, pode-se destacar a obra de Pufendorf (1632–1694), que, ao
distinguir Direito de Teologia e Direito natural do Direito positivo, mostrou-se
desvinculado do pensamento escolástico e do luteranismo, além de contribuir “[...] para
a racionalização de um sistema filosófico no Direito.” (p. 144)
“[...] a teoria do Direito natural racionalista foi enriquecida com a contribuição
mais empírica de Christian Thomasius e mais racionalista de Christian Wolff, ambos
estabelecendo a ponte entre o jusnaturalismo alemão e o espírito emergente da
‘Aufklärung’.” (p. 145) Thomasius (1655–1728) fez a distinção entre Direito (legislação
externa) e Moral (legislação interna; consciência do sujeito) enquanto para Wolff
(1679–1754) “[...] o Direito aparece como faculdade que viabiliza a efetivação da
obrigação moral.” (p. 147)
Cabe citar ainda Spinoza, que concebeu o Direito sob uma relação ambígua com
a força e Vattel, que subordinou o Direito natural aos interesses políticos e diferenciou,
assim, um Direito natural dos indivíduos de um Direito do Estado.
Conclui-se a respeito das origens e do desenvolvimento do jusracionalismo que
ele influenciou um processo crescente de codificações e justificou os limites impostos
aos monarcas absolutistas.
O autor trata, na seqüência da obra, do Iluminismo, “um processo histórico
vigoroso de ruptura, liberalização e criatividade” (p. 149), que surgiu no século XVIII.
O Iluminismo influenciou a ética, a política e o Direito, caracterizando-se como uma
crítica ao absolutismo monárquico, que culminou, em 1789, na Revolução Francesa. Os
iluministas consideravam que “[...] todos os aspectos da vida deveriam ser submetidos à
crítica [...]” (p. 151). Combateram, portanto, “[...] todas as formas de superstição,
intolerância, privilégios de nascimento e falta de liberdade.” (p. 151)
Ao contrário do século anterior que se preocupava com questões metafísicas, o
Iluminismo considerava mais importante a aplicação prática das teorias e buscava um
conhecimento fundado na razão e na experiência empírica.
Quanto à relação entre Iluminismo e o pensamento jurídico do século XVIII,
percebem-se pontos em comum como a razão e a pretensão de universalismo. Mas é
preciso evidenciar que, enquanto o Iluminismo foi uma ruptura moral, o jusracionalismo
foi a continuação renovada da tradição, revelando uma tendência mas humanista.
Em contraposição ao Iluminismo e sua excessiva racionalização e
enciclopedismo, surgiu o romantismo, que defendia a valorização da natureza, da
emoção e da liberdade sem regras. “Para além de seus traços associados ao idealismo
transcendental, ao nacionalismo e ao historicismo, o romantismo representou, em
muitos Estados europeus, a restauração conservadora diante das conseqüências políticas
desestabilizadoras e radicais da Revolução Francesa.” (p. 155)
Dois pensadores que defenderam uma análise do homem e da sociedade do
ponto de vista da história foram Vico e Montesquieu. Vico (1688-1744) entendia a
história como uma sucessão progressiva de fases que completariam um ciclo (corsi),
que também se sucederiam. Vico propõe uma doutrina historicista do Direito em
contraposição ao jusnaturalismo racionalista eterno.
Montesquieu (1689-1755), em sua obra O Espírito das Leis, abordou “[...] a
natureza e a formação das leis, a classificação das formas de governo (República,
Monarquia e Despotismo) e a célebre teoria da divisão dos poderes.” (p. 157) Segundo
ele, as instituições jurídicas eram produto da história e a lei era um instrumento da
razão. Essa valorização da lei contribuiu para que o Direito se reduzisse cada vez mais
ao Direito estatal e para que a lei fosse entendida como limitadora do poder.
A seguir, o autor destaca alguns aspectos da Revolução Francesa, como o
surgimento de novas relações de poder e a materialização do Estado-Nação, ou seja, o
príncipe soberano é substituído pela nação soberana. A nova organização social
consolida o jusnaturalismo racionalista; o Direito se limita aos interesses da burguesia:
“[...] a filosofia jurídica do século XVIII refletiu as condições sociais e econômicas de
uma classe média individualista e ascendente.” (p. 160)
Embora os pensadores franceses da época não tenham examinado grandes
questões jusfilosóficas, ao trabalhar novamente os princípios vindos da tradição anglo-
saxônica, contribuíram para o surgimento da Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão (1789) e posteriores codificações.
Um pensador que se distanciou dos demais iluministas foi Rousseau (1712-
1778). Sua principal obra é O Contrato Social, dividido em quatro livros, dos quais os
dois primeiros contêm as idéias mais relevantes para uma filosofia jurídica.
Inicialmente, Rousseau “[...] descreve o estado de natureza, a necessidade de se
remontar à primeira convenção, à formação do pacto social, à força legitimadora da
‘vontade geral’ e a aquisição da liberdade civil.” (p. 163)
No segundo livro, vincula-se a soberania à vontade geral, que é diferente da
vontade da maioria. Enquanto a primeira tem como fim o bem comum, a segunda é a
soma de interesses particulares. Por fim, cabe destacar a definição de lei de Rousseau,
ou seja, um ato absoluto da vontade geral, de autoria popular. Para ele, a finalidade da
legislação é a igualdade e a liberdade.
Após tratar do pensamento francês iluminista, o autor aborda o pensamento
jusfilosófico kantiano. Kant (1724-1804) reuniu em sua obra o racionalismo germânico,
o empirismo inglês e traços do pensamento de Rousseau. Ele foi o responsável “[...]
pela formulação mais acabada e mais técnica de uma filosofia moral racionalista para a
modernidade.” (p. 168) Com ele, o Direito natural passou a Direito racional.
Em Metafísica dos Costumes, Kant estuda os princípios que regulam a conduta
do homem livre e racional, distinguindo Direito (legislação externa) de moral
(legislação interna). A perspectiva dele sobre o Direito é formal, ou seja, Kant não se
preocupa com o conteúdo das relações que o Direito regula. Ele desenvolve ainda o
princípio universal do Direito, que pode ser entendido como “A minha liberdade
termina onde começa a do outro.”
Nessa obra, Kant ainda separa o Direito natural do Direito positivo. Aquele vige
no estado de natureza e é constituído por leis racionais, enquanto este se fundamenta na
vontade do legislador. Essa distinção permite que associemos o Direito natural ao
Direito privado e o Direito positivo ao Direito público.
Outro pensador mencionado é Hegel (1770-1831), para quem a filosofia jurídica
era um artifício para a glória do Estado e a sociedade civil é entendida por ele como
“[...] um meio de que se vale o Estado para a realização de seus fins específicos,
enquanto ideal racional em progressão.” (p. 174-175)
Para concluir esse tópico relativo ao Iluminismo, o autor aborda a filosofia
jurídica desenvolvida no século XVIII na Itália. Os iluministas italianos defendiam uma
reforma no legislativo e judicial, mesclando “[...] orientações racionalistas com
equilíbrio e realismo [...]”. (p. 175)
Muratori (1672-1750), além de afirmar ser necessário adequar a legislação
anterior aos novos tempos, acreditava que os defeitos da justiça seriam resolvidos na
medida em que os pontos controvertidos fossem solucionados por uma codificação.
Beccaria (1738-1794) ficou conhecido por ter exposto os princípios do Direito
Penal e por defender uma reforma humanitária nessa área. Em sua obra Dos Delitos e
das Penas, ele criticou o Direito Penal Absolutista, por empregar torturas e prever a
aplicação da pena de morte.
Ao longo do livro, Beccaria enuncia, por exemplo, o Princípio da legalidade, ou
da necessidade de existir uma lei para que haja um delito. Segundo ele, somente a lei
poderia determinar os casos em que a punição seria merecida por um homem.
Ele também condenou a prática da tortura, não apenas pela crueldade, mas
também pela questão da igualdade diante da lei. A tortura, para Beccaria, é ineficaz na
apuração da verdade, porque um homem inocente e frágil pode ser condenado enquanto
um culpado e forte pode permanecer livre. Nesse sentido, cabe lembrar que a tortura e
as penas cruéis eram empregadas pelo absolutismo também com a “[...] finalidade de
reafirmação constante do poder monárquico.” (p. 181)
Beccaria também era contra a pena de morte, que, para ele, nos casos de crimes
mais graves, deveria ser substituída pela perda total da liberdade. Na sua concepção, as
penas não tinham como fim impor sofrimento ou desfazer um delito, mas sim, a
preservação da sociedade. A finalidade da pena era, portanto: “impedir o réu de fazer
novos danos aos seus concidadãos e de remover os outros de fazê-los iguais.” (BRUNO
apud WOLKMER, 2006, p. 183)
Na seqüência da obra, Beccaria examina a proporção entre os delitos e as penas,
demonstrando assim que sua preocupação era com a desigualdade dos homens perante a
lei e não com a desigualdade dos homens em si.
Conclui-se que Dos Delitos e das Penas foi significativo por denunciar “os
privilégios e as discriminações da justiça penal, reordenando-a em novas bases da razão
humana.” (p. 183)
Cabe ainda mencionar a situação inglesa à época do Iluminismo. Ao contrário da
França, em que a queda do absolutismo se deu por meio de um processo revolucionário,
os ingleses viviam uma “[...] experiência institucional mais moderada e linear.” (p. 184)
Embora houvesse pensadores conservadores como Burke, outros incorporaram os
princípios iluministas e os aplicaram à filosofia, política e economia.
Hume (1711-1778) criticou as concepções artificiais do jusnaturalismo, mas não
se projetou como filósofo do direito e sim por discutir questões de conhecimento e ética.
Também A. Smith foi professor de filosofia moral, porém ficou conhecido por sua
teoria econômica do liberalismo exposta em A Riqueza das Nações. Blackstone (1723-
1780) foi o grande expoente da cultura jurídica inglesa, ao destacar aproximações entre
a common law e o Direito natural, pelo que foi criticado por Bentham.
Em relação à cultura jurídica do século XVIII, conclui-se que foi marcada “[...]
pela consolidação histórica de um processo de racionalização, da afirmação de uma
cultura individualista e liberal, da distinção entre o Direito e a moral, e da progressiva
secularização do Direito rumo à unicidade e à positivação.” (p.187)
O século XIX foi o período da “[...] efetivação do modelo positivista de ciência,
calcado nos parâmetros de experiência, objetividade e universalidade” (p. 188),
sofrendo influência ainda, nas décadas finais, do evolucionismo darwinista.
Na esfera sociopolítica, predominou o liberalismo de “contornos progressistas,
nacionalistas e conservadores” (p. 189), expressão da burguesia, classe detentora dos
meios de produção. Nesse sentido, cabe destacar ainda a Revolução Industrial e suas
conseqüências: progresso científico, transformações econômicas e graves problemas
sociais, que estimularam o fortalecimento do socialismo em suas vertentes utópica,
estatal e científica. Esta última, desenvolvida por Marx, foi a de maior influência sobre
os movimentos operários.
No campo jurídico, a partir da metade do século XIX, consolidou-se o
positivismo, que procurou transformar o Direito em ciência, eliminando qualquer juízo
de valor ou considerações metafísicas. De acordo com os positivistas, “[...] o Direito é
explicado por sua própria materialidade coercitiva, previsibilidade e segurança.” (p.
191) Essa corrente tem ainda como característica a redução de todo o Direito ao Direito
estatal e um dos seus elementos essenciais é o formalismo.
Na França, o positivismo alcançou seu auge com o Código Civil (ou
Napoleônico) de 1804 e com a Escola da Exegese. Os juristas dessa Escola defendiam
que a função do juiz era aplicar o previsto na lei, única fonte do Direito, através do seu
exame literal. Assim, definiam a estatalidade do Direito e pregavam o automatismo do
juiz.
“[...] trajetória anglo-saxônica [do positivismo], inaugurada preliminarmente por
Thomas Hobbes e desenvolvida por Jeremy Bentham, acaba doutrinariamente
formalizando-se num positivismo imperativo lógico-descritivo do jurista John Austin
(1790-1859) [...].” (p. 193) Ele foi responsável por reconhecer que o direito da common
law era direito positivo, mesmo que não viesse diretamente do poder soberano.
Na Alemanha, o maior representante da Escola Histórica foi Savigny (1779-
1861), que “[...] deu consistência teórica ao movimento que apregoava ser o Direito não
uma criação deliberada da razão, mas uma constante e orgânica emanação da
consciência política popular e do espírito do povo.” (p. 195) Savigny, era, portanto,
contrário às codificações e defendia o Direito fundamentado nos costumes, reflexo do
Volksgeist. Por isso, atacava Thibaut (1772-1840), defensor da codificação como saída
para a desorganização das leis na Alemanha. O pensamento de Savigny predominou até
1900, quando surgiu o Código Civil Alemão.
Embora a Escola Histórica não possa ser considerada positivista, o sistema de
conceitos de Puchta, discípulo de Savigny, foi readequado ao pensamento formalista
dos pandectistas. Essa Escola defendia a sistematização do Direito alemão a partir dos
textos clássicos do Direito romano – universal e estável. Assim, o positivismo na
Alemanha se consolida através da jurisprudência dos conceitos.
Porém, a manifestação mais forte do positivismo alemão ocorre a partir de 1850
com a Teoria Geral do Direito, cujos defensores desprezavam a filosofia e se
interessavam por uma ciência positiva do Direito. Eles argumentavam, portanto, que
juízos de valor e considerações a respeito da finalidade do direito deveriam ser
excluídas; que era Direito apenas o Direito positivo; que a lei deveria ser interpretada
‘ao pé da letra’ e que, sendo lei, deveria ser obedecida.
O último tópico abordado pelo autor se refere às “[...] interpretações que
questionavam o rigor conceitualista e o distanciamento da teoria jurídica da dinâmica
social” (p. 200), estimuladas pelo desenvolvimento do capitalismo e pelo agravamento
dos problemas sociais.
Jhering (1818-1892), no momento mais maduro de sua carreira, além de analisar
as relações entre Direito e poder, desenvolveu “[...] uma concepção finalística do
Direito, vista como meio de realizar e satisfazer interesses antagônicos.” (p. 201) Mas
ele defendia que uma norma sem coação não era válida e que o Direito de coação social
era monopólio do Estado, revelando assim a permanência de vínculos estatistas e
positivistas.
A concepção finalística de Jhering, conhecida como jurisprudência dos
interesses, foi reelaborada por Heck (1858-1943). Ele defendeu, em caso de conflitos de
interesses, que o juiz não baseasse sua decisão nos conceitos, mas sim “[...] numa
adequada ponderação desses interesses [...]”. (HESPANHA apud WOLKMER, 2006, p.
203) Entretanto, a lei ainda era entendida como a única fonte do Direito e juiz deveria se
submeter inteiramente a ela.
Surge também em meados do século XIX, um movimento chamado de Direito
livre, cujo precursor foi Bülow, cuja obra mostrou que a verdadeira fonte do Direito é o
juiz e não a lei. Suas idéias foram incorporadas por Kantorowicz (1877-1940) e por
Ehrlich (1862-1907). O primeiro defendeu um Direito livre, anterior ao Direito estatal,
enquanto o segundo concebia o Direito como algo vivo, produzido nas relações sociais,
que não se impõe por meio de regras fixas, mas tem sua eficácia nas “[...] sanções
naturais que predominam nos grupos.” (p. 206) Segundo Ehrlich, o Direito estatal é
pouco significativo, pois a vida jurídica se desenvolve longe do Estado.
Outra reação ao positivismo vem na forma do materialismo histórico
desenvolvido por Marx, que não elaborou uma concepção fechada de Direito porque as
relações jurídicas tinham sua origem nas relações materiais de vida. Assim, segundo
Marx, o Direito integrava a “superestrutura” (Estado – reflexo das relações
determinadas pelos modos de produção) e não possuía autonomia filosófica e científica.
Independentemente disso, pode ser encontrada em A Questão Judaica a crítica
de Marx aos direitos burgueses consolidados nas Declarações do século XVIII. No
texto, ele destaca que a emancipação política não é equivalente à emancipação humana,
real, porque a emancipação política reduz o homem a burguês ou a cidadão do Estado.
Marx também afirma que os direitos humanos são conseqüência de um processo
de luta contra os privilégios hereditários e que podem ser diferenciados em dois grupos,
distintos e contraditórios: os direitos do homem e os direitos do cidadão. O homem,
nesse caso, é o indivíduo que pertence à burguesia e à sociedade civil e que possui
direitos reais. Já o cidadão é o ser genérico que pertence à comunidade política.
Ao longo do texto, Marx analisa os direitos contemplados pelo artigo 2º da
Declaração Francesa de 1793. Segundo ele, o Direito à liberdade se baseia “[...] na
separação do homem em relação a seu semelhante.” (p.216) Já o direito à propriedade
privada é entendido por Max como o direito do interesse pessoal: o homem pode
desfrutar de seu patrimônio se atender aos outros homens. Em resumo, os direitos
humanos são direitos de seres egoístas e o Direito à segurança (garantia da conservação
da pessoa, seus direitos e propriedade) é a preservação desse egoísmo.
A Questão Judaica contribui para que repensemos sobre o Direito e suas
deformações formalistas, sobre a abstração que são os direitos humanos e sobre as
novas formas de prática jurídica em que o Direito funcione “[...] como instrumental da
justiça humanizada e da emancipação social concreta.” (p. 220)
Na seqüência, o autor menciona duas novas correntes da filosofia jurídica, que
surgiram já na primeira metade do século XX: o neokantismo alemão e o criticismo
neo-idealista italiano. Na conclusão, são citados também o Círculo de Viena – tradição
formalista – e a Escola de Frankfurt – idealistas – além de diversas correntes
doutrinárias, que refletem um tempo de rupturas de velhos paradigmas.
Por fim, o autor reforça um dos objetivos da obra, anteriormente explicitado na
introdução: “Trata-se de resgatar, ao configurar uma historicidade das principais idéias
jurídicas, a retomada de diretrizes valorativas acerca do Direito justo, da dignidade
humana e da efetividade dos direitos humanos.” (p. 223)
A respeito da obra Síntese de uma História das Idéias Jurídicas, cabe enumerar
algumas considerações específicas em relação a alguns dos temas tratados. Por
exemplo, o pensamento de Rousseau. Embora ele afirme em sua obra O Contrato
Social que o homem nasce livre, logo depois faz uma ressalva ao dizer que ainda assim
o homem vive sob ferros. Ou seja, o homem nasce em condição de igualdade aos outros
homens, mas não livre. A liberdade só é alcançada na república, momento posterior à
sociedade civil (que tem conotação negativa para Rousseau), superada pelo contrato.
Em relação ao pensador alemão Savigny, cabe dizer que, embora ele defendesse
a idéia de um Direito que surge espontaneamente das relações entre os homens, ele
acreditava que os professores de direito (como ele) é que deveriam defini-lo. Seu
pensamento, portanto, tem contradições.
Conclui-se, de modo geral, que a obra proporciona um conhecimento muito
amplo, mas, ao mesmo tempo, resumido. Tem-se uma seleção dos autores mais
influentes de cada época e os trechos relativos ao contexto histórico de cada idéia
facilitam a compreensão das mesmas. Alguns pontos são tratados de modo superficial e
ficam um pouco obscuros. Entretanto, por ser uma síntese e por tratar de um extenso
período de tempo, a obra capta justamente a essência das idéias jurídicas mais
relevantes da história do Ocidente e contribui para uma reflexão a respeito do processo
de formação do Direito atual.
Você também pode gostar
- EmpirismoDocumento6 páginasEmpirismoMeiriany de sousaAinda não há avaliações
- O Controle Jurisdicional Dos Atos Administrativos DiscricionáriosDocumento34 páginasO Controle Jurisdicional Dos Atos Administrativos DiscricionáriosJosé Anselmo de Carvalho JúniorAinda não há avaliações
- Literatura Romantismo PDFDocumento8 páginasLiteratura Romantismo PDFMarcos SantosAinda não há avaliações
- República, Democracia e FederalismoDocumento17 páginasRepública, Democracia e FederalismoTalita BarcelosAinda não há avaliações
- Análise Das Tendências PedagógicasDocumento6 páginasAnálise Das Tendências PedagógicasKeila KastroAinda não há avaliações
- Libe-Ralismo: No BrasilDocumento156 páginasLibe-Ralismo: No BrasilFernandoFilhoAinda não há avaliações
- A Erosao Da Comunidade No Pensamento de Robert Nisbet e A Dependencia Dos Europeus Perante A Fragilizacao Da Providencia Estatal-LibreDocumento19 páginasA Erosao Da Comunidade No Pensamento de Robert Nisbet e A Dependencia Dos Europeus Perante A Fragilizacao Da Providencia Estatal-LibreLuciana FernandesAinda não há avaliações
- Arthur Machado Paupério - O Primeiro Tomista de D. Constitucional (José Soriano)Documento6 páginasArthur Machado Paupério - O Primeiro Tomista de D. Constitucional (José Soriano)Arnaldo CavalcantiAinda não há avaliações
- Resumos Direitos Fundamentais 1º SemestreDocumento9 páginasResumos Direitos Fundamentais 1º Semestrenovaiis.barbarayAinda não há avaliações
- 7.1.3-A Regressão Do DemoliberalismoDocumento4 páginas7.1.3-A Regressão Do Demoliberalismoacsf0% (1)
- Santo AgostinhoDocumento3 páginasSanto AgostinhoSelemane ChaleAinda não há avaliações
- 1 - Simulado - Espcex Prova2 2021 1Documento23 páginas1 - Simulado - Espcex Prova2 2021 1ddavvigomes5151Ainda não há avaliações
- Desigualdade Social, Política e EstadoDocumento47 páginasDesigualdade Social, Política e EstadoValdinei RodriguesAinda não há avaliações
- Vinte Anos de Crise Carr ResenhaDocumento4 páginasVinte Anos de Crise Carr ResenhaRafael RochaAinda não há avaliações
- C.peter Wagner Igrejas Que OramDocumento299 páginasC.peter Wagner Igrejas Que OramCharles VieiraAinda não há avaliações
- A Concepção de Ordem Social Segundo Dom Antonio de Macedo CostaDocumento27 páginasA Concepção de Ordem Social Segundo Dom Antonio de Macedo CostaJuarez AnjosAinda não há avaliações
- A Constituição Da Liberdade HayekDocumento13 páginasA Constituição Da Liberdade HayekluanacostamunizAinda não há avaliações
- Sociologia 1º Democracia, Cidadania e Direitos HumanosDocumento5 páginasSociologia 1º Democracia, Cidadania e Direitos HumanosLeticia Gabriela GomesAinda não há avaliações
- 1º Mini Teste CP 2023-2024 - Com CritériosDocumento6 páginas1º Mini Teste CP 2023-2024 - Com Critérios78fccwvmhbAinda não há avaliações
- Avaliação de História - 2 Série - 1 Parcial - 4º Bimestre-2021Documento19 páginasAvaliação de História - 2 Série - 1 Parcial - 4º Bimestre-2021LUCAS COELHO SILVAAinda não há avaliações
- Roteiro Corpo Do TextoDocumento17 páginasRoteiro Corpo Do TextoMichele Dela Fuente AraujoAinda não há avaliações
- Lamounier. O 'Brasil Autoritário' RevisitadoDocumento5 páginasLamounier. O 'Brasil Autoritário' RevisitadoHippiasAinda não há avaliações
- Cap 4 A ERA DOS EXTREMOS - Resumo Por Samara VieiraDocumento6 páginasCap 4 A ERA DOS EXTREMOS - Resumo Por Samara VieiraSamara Jhowsyllen Vieira LopesAinda não há avaliações
- Tese AlvaroPogliaDocumento149 páginasTese AlvaroPogliaSarahF.B.deMeloAinda não há avaliações
- MOVENDO O CENTRO: Colonialismo Oculto e As Contribuições Teóricas Críticas e Pós-Coloniais para As Relações InternacionaisDocumento24 páginasMOVENDO O CENTRO: Colonialismo Oculto e As Contribuições Teóricas Críticas e Pós-Coloniais para As Relações InternacionaisVicoAinda não há avaliações
- DemocraciaDocumento102 páginasDemocraciaconstante constanteAinda não há avaliações
- Habermas X PapaDocumento13 páginasHabermas X PapaMarina Da CunhaAinda não há avaliações
- Resumo - Octavio Ianni PDFDocumento5 páginasResumo - Octavio Ianni PDFCarol CaixetaAinda não há avaliações
- (ART) CALSAMIGLIA, ALbert - Ensaio Sobre DworkinDocumento24 páginas(ART) CALSAMIGLIA, ALbert - Ensaio Sobre DworkinIgor CaldeiraAinda não há avaliações
- DIAS, Jean - A Crítica Comunitária A Teoria Da Justiça de John Rawls - O IndividualismoDocumento18 páginasDIAS, Jean - A Crítica Comunitária A Teoria Da Justiça de John Rawls - O IndividualismoBruno Mori PorrecaAinda não há avaliações
- Uma leitura negra: Interpretação bíblica como exercício de esperançaNo EverandUma leitura negra: Interpretação bíblica como exercício de esperançaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Planejamento Patrimonial e Sucessório: controvérsias e aspectos práticos: Volume IINo EverandPlanejamento Patrimonial e Sucessório: controvérsias e aspectos práticos: Volume IIAinda não há avaliações
- 1,2,3 João: Como ter a garantía da salvaçãoNo Everand1,2,3 João: Como ter a garantía da salvaçãoNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (6)
- A fé na era do ceticismo: Como a razão explica DeusNo EverandA fé na era do ceticismo: Como a razão explica DeusNota: 5 de 5 estrelas5/5 (9)
- Marketing Eleitoral: O passo a passo do nascimento de um candidatoNo EverandMarketing Eleitoral: O passo a passo do nascimento de um candidatoAinda não há avaliações
- O Livro de Urântia: Revelando os Misterios de Deus, do Universo, de Jesus e Sobre Nos MesmosNo EverandO Livro de Urântia: Revelando os Misterios de Deus, do Universo, de Jesus e Sobre Nos MesmosNota: 4 de 5 estrelas4/5 (56)
- Como ganhar sua eleição para vereador: Manual de campanha eleitoralNo EverandComo ganhar sua eleição para vereador: Manual de campanha eleitoralAinda não há avaliações
- Finanças Organizadas, Mentes Tranquilas: A organização precede a prosperidadeNo EverandFinanças Organizadas, Mentes Tranquilas: A organização precede a prosperidadeNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (17)