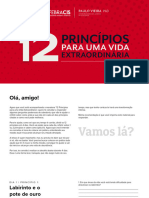0% acharam este documento útil (0 voto)
409 visualizações9 páginasTradução - Modos de Narrar - Piglia
O documento discute os modos de narrar e como a narração é uma prática social importante. Apresenta exemplos de como histórias contadas informalmente podem refletir tradições literárias e fornecer percepções sobre a realidade. Também discute como a forma de narrar, e não apenas o conteúdo, transmite significado e como histórias podem antecipar eventos futuros de maneira elíptica.
Enviado por
Adriana Nunes da CostaDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia on-line no Scribd
0% acharam este documento útil (0 voto)
409 visualizações9 páginasTradução - Modos de Narrar - Piglia
O documento discute os modos de narrar e como a narração é uma prática social importante. Apresenta exemplos de como histórias contadas informalmente podem refletir tradições literárias e fornecer percepções sobre a realidade. Também discute como a forma de narrar, e não apenas o conteúdo, transmite significado e como histórias podem antecipar eventos futuros de maneira elíptica.
Enviado por
Adriana Nunes da CostaDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia on-line no Scribd