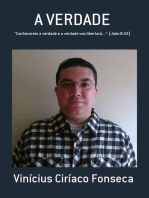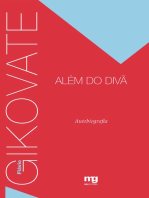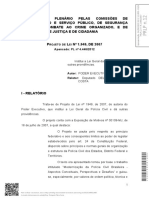Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Formalist Manifesto PT
Enviado por
Gabriel Vander0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
8 visualizações14 páginasTítulo original
formalist_manifesto_pt
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
8 visualizações14 páginasFormalist Manifesto PT
Enviado por
Gabriel VanderDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 14
UM MANIFESTO FORMALISTA
MENCIUS MOLDBUG · DIA 23 DE ABRIL, 2007
Um dia desses eu estava de bobeira na minha garagem e decidi construir
uma nova ideologia.
Qual foi? Acha loucura minha, por acaso? Antes de mais nada, ideologias
não são construídas. Elas são repassadas ao longo dos séculos, como
receitas de lasanha. Elas precisam ser envelhecidas, como bourbon. Não
podem ser bebidas direto do radiador.
E veja só o que acontece quando você se afoba. O que você acha que
causa todos os problemas do mundo? Ideologias, é claro. O que você acha
que Bush e o Osama têm em comum? Ambos são ideólogos insanos. E você
acha que precisamos de mais disso?
Além do mais, construir uma nova ideologia é simplesmente impossível.
As pessoas falam em ideologia desde os tempos em que Jesus era
criancinha. No mínimo! E eu preciso melhorar os modelos que temos? Um
cara qualquer na internet, que trancou a pós-graduação e não fala nem
grego nem latim? Quem que eu penso que sou, por acaso? Wallace Shawn?
Objeções excelentes, todas elas. Vamos responder uma por uma e depois
conversaremos sobre o formalismo.
Para começar, naturalmente, existe um par de ideologias envelhecidas
maravilhosamente e que a internet hoje nos descreve com um nível
glorioso de detalhe. Elas são conhecidas por muitos nomes, mas vamos
chamá-las aqui de progressismo e conservadorismo.
Minha queixa a respeito do progressismo é que pelos últimos cem anos, no
mínimo, a vasta maioria dos escritores, pensadores e pessoas inteligentes
de modo geral têm sido progressistas. Portanto, qualquer intelectual em
2007, o que inclui (desde que não tenha acontecido uma dobra espacial
na internet onde minhas palavras passaram a ser transmitidas ao vivo na
Fox News) qualquer um que esteja lendo isto, foi essencialmente
marinado na ideologia progressista.
Isto talvez prejudique a capacidade do indivíduo de detectar possíveis
problemas com a visão progressista do mundo.
E quanto ao conservadorismo, nem todos os muçulmanos são terroristas,
mas a maioria dos terroristas é muçulmana. Da mesma forma, nem todos
os conservadores são cretinos, mas a maioria dos cretinos é conservadora.
O movimento conservador americano – que, paradoxalmente, é muito
mais jovem do que o movimento progressista, talvez porque houve
necessidade de reinventá-lo após a ditadura Roosevelt – tem sido
nitidamente afetada por esse público. Ele também é prejudicado pela
coincidência eleitoral onde ele precisa odiar tudo que o progressismo
adora, uma doença congênita bizarra que parece ser incurável.
A maioria daqueles que não se consideram “progressistas” nem
“conservadores” se enquadra em um de dois grupos. São “moderados” ou
“libertários”.
Na minha experiência, a maioria das pessoas sensatas se considera
“moderada”, “centrista”, “independente”, “não-ideológica”,
“pragmática”, “apolítica”, etc. Levando em conta as tragédias
descomunais acarretadas pela política no século XX, essa atitude é
perfeitamente compreensível. É também, na minha opinião, responsável
por grande parte das mortes e destruição que vemos no mundo de hoje.
Moderação não é uma ideologia. Não é uma opinião. Não é um
pensamento. É a ausência de pensamento. Se você acredita que o status
quo de 2007 é essencialmente íntegro, sinto que você pensaria o mesmo
se uma máquina do tempo o transportasse à Viena de 1907. Mas caso você
andasse pela Viena de 1907 afirmando que deveria existir uma União
Europeia, que africanos e árabes deveriam governar seus próprios países
e até colonizar a Europa, que qualquer forma de governo que não seja a
democracia parlamentar é perversa, que o papel-moeda é bom para os
negócios, que todos os médicos deveriam ser funcionários públicos, etc.,
etc. – olha, você provavelmente encontraria gente que pensasse igual. Só
que eles não se considerariam “moderados”, e tampouco seriam vistos
como tal por qualquer outro.
Nada disso. O moderado na Viena de 1907 era aquele que achava Franz
Josef I o cara mais incrível na história do planeta. Qual seria a escolha
então? Habsburgos ou eurocratas? É um tanto difícil distinguir um do
outro.
Em outras palavras, o problema da moderação é que o “centro” não é
uma posição fixa. Ele se desloca. E já que ele se desloca, e já que as
pessoas são pessoas, pessoas tentarão deslocá-lo. Isso cria um incentivo à
violência – algo que nós formalistas buscamos evitar. Voltarei a isso em
breve.
Restam os libertários. Veja bem, eu amo os libertários de paixão. Meu
computador tem um socket aberto permanente dedicado ao Instituto
Mises. A meu ver, qualquer um que escolhe, de forma intencional,
continuar ignorante a respeito do pensamento libertário (especialmente o
pensamento misesiano-rothbardiano) em uma era em que poucos cliques
de um mouse podem proporcionar libertarianismo de alta octanagem em
doses cavalares, não é uma pessoa de qualquer seriedade intelectual.
Além disso, sou um programador que leu um absurdo de ficção científica –
dois fatores de risco críticos que levam ao libertarianismo. Portanto, eu
poderia muito bem dizer “leia Rothbard” e deixar por isso mesmo.
Por outro lado, é difícil deixar de perceber dois fatos básicos do universo.
Um deles é que o libertarianismo é uma ideia extremamente óbvia. O
outro é que ele nunca foi implementado com sucesso.
Isso não comprova nada. Mas o que isso insinua é que o libertarianismo é,
como seus detratores sempre se atropelam para afirmar, uma ideologia
essencialmente impraticável. Eu adoraria viver em uma sociedade
libertária. A questão é: será que existe um caminho que nos leve até lá,
partindo de onde estamos? E se chegarmos lá, será que aquilo poderá ser
sustentado? Se sua resposta para as duas perguntas é “claro que sim,
óbvio”, talvez sua definição de “óbvio” seja diferente da minha.
Foi por isso que decidi construir minha própria ideologia – o
“formalismo”.
Não há novidade alguma no formalismo, é claro. Progressistas,
conservadores, moderados e libertários todos reconhecerão grandes
bocados de suas próprias realidades não-digeridas. Até mesmo a palavra
“formalismo” foi apropriada do formalismo jurídico, que é basicamente a
mesma ideia, mas vestida em trajes menos chamativos.
Não sou Vizzini. Sou só um cara que compra um monte de livros usados
obscuros e que não tem medo de triturar eles, acrescentar tempero e
vender o resultado com um nome novo – como um surimi político. Quase
tudo do que eu tenho a dizer está disponível, de forma mais bem escrita,
mais detalhada e com muito mais erudição, nas obras de Jouvenel,
Kuehnelt-Leddihn, Leoni, Burnham, Nock, etc., etc.
Se você nunca ouviu falar de nenhum desses indivíduos, saiba que eu
também não tinha, até começar minha jornada. Se isso o assusta, saiba
que deveria mesmo. Trocar sua própria ideologia é um processo que tem
muito a ver com neurocirurgia feita por você mesmo. Exige paciência,
tolerância, alta resistência a dor e mãos muito firmes. Seja quem você
for, já tem uma ideologia na cabeça, e se ela quisesse sair, já teria saído
por conta própria.
Não faria sentido algum dar início a esta experiência caótica só para
acabar instalando uma outra ideologia que só tem a forma que tem
porque alguém decidiu e pronto. O formalismo, como veremos aqui, é
uma ideologia criada por geeks para outros geeks. Não é um kit pronto.
Não vem com pilhas. Não é só encaixar no lugar. No melhor dos casos, é
um ponto de partida geral para ajudar você a construir sua própria
ideologia caseira. Se você não se sente à vontade mexendo com uma
esquadrejadeira, um osciloscópio e uma autoclave, o formalismo não é
para você.
Dito isso:
A ideia básica do formalismo é simplesmente a de que o problema
principal dos afazeres da humanidade é a violência. O objetivo é
desenvolver uma forma para que humanos possam interagir, em um
planeta de tamanho extraordinariamente limitado, sem violência.
Violência organizada, em especial. Comparados à violência organizada de
humano contra humano, na visão de um bom formalista, todos os outros
problemas – Miséria, Aquecimento Global, Deterioração Moral, etc., etc.,
etc. – são basicamente irrisórios. Depois de lidarmos com a violência,
podemos quem sabe nos preocuparmos um pouco com a Deterioração
Moral, mas considerando que a violência organizada matou algumas
centenas de milhões de pessoas no último século, enquanto a
Deterioração Moral só nos rendeu o “American Idol”, creio que as
prioridades estão bem claras.
O importante aqui é ver a questão não como um problema moral, mas sim
um problema de engenharia. Qualquer solução que resolva o problema é
aceitável. Qualquer solução que não resolva o problema é inaceitável.
Por exemplo, existe uma ideia chamada pacifismo, parte do leque geral
progressista, que afirma ser uma solução para a violência. Pelo que eu
entendo, a ideia do pacifismo é que se eu e você conseguirmos ser não-
violentos, todos os outros seres humanos também serão não-violentos.
Não tenho dúvida alguma de que o pacifismo é eficaz em certos casos. Na
Irlanda do Norte, por exemplo, parece cair como uma luva. Mas o
princípio da coisa tem uma certa lógica nos moldes do “centésimo
macaco” que a minha mente linear ocidental nunca consegue sacar. Me
parece que se todos forem pacifistas, mas uma única pessoa decidir não
ser pacifista, essa pessoa vai acabar dominando o mundo. Hm.
Um outro empecilho é o fato de que a definição de “violência” não é tão
óbvia. Se eu tomar sua carteira com toda a delicadeza e você vier atrás
de mim com sua Glock e eu for forçado a implorar para devolvê-la, quem
de nós está sendo violento? E se eu disser “ora, a carteira era sua – mas
agora é minha”?
Isso me diz, no mínimo dos mínimos, que precisamos de uma regra que
nos diga a quem pertence cada carteira. Violência, portanto, é qualquer
coisa que quebre a regra, ou substitua ela com uma regra diferente.
Quando a regra é clara e obedecida por todos, não há violência.
Em outras palavras, violência é igual a conflito mais incerteza. Enquanto
houverem carteiras no mundo, haverá conflito. Mas se pudermos eliminar
a incerteza – se houver uma regra inequívoca e inviolável que nos diga, de
antemão, quem ficará com a carteira – eu não terei motivo para enfiar
minha mão no seu bolso, e você não terá motivo para vir correndo atrás
de mim dando tiros ao esmo. Nenhuma atitude nossa, por definição, terá
como mudar o resultado do conflito.
Violência em qualquer escala não faz sentido algum na ausência de
incerteza. Pense na guerra. Se um dos exércitos sabe que vai perder a
guerra, talvez graças aos conselhos de um oráculo infalível, ele não tem
motivo para batalhar. Não seria melhor se render e encerrar o assunto?
Mas isso só multiplica nossas dificuldades. De onde vêm essas regras? O
que garante a elas esse caráter inviolável? Quem é nomeado oráculo? Por
que a carteira é “sua”, e não “minha”? O que acontece quando
discordamos sobre essas questões? Se há uma regra para cada carteira,
como será possível lembrar de todas elas? E se for eu com a Glock, e não
você?
Felizmente, grandes filósofos já passaram muitas longas horas
ponderando sobre esses detalhes. As respostas que apresento aqui são
deles, não minhas.
Para começar, uma forma sensata de se estabelecer regras é a
determinação de que você se compromete a seguir uma regra somente se
concordar com ela. Não temos regras criadas pelos próprios deuses. O que
temos, na realidade, são acordos, não regras. Concordar com uma coisa e
depois desconcordar quando for conveniente é certamente a atitude de
um biltre. Aliás, quando se fecha um acordo, o próprio acordo pode muito
bem cobrir as consequências desse tipo de comportamento irresponsável.
Caso você seja um maluco que não aceita regra alguma – nem mesmo a
regra de que você não vai sair matando pessoas a torto e direito na rua –
tudo bem. Vá morar na selva, ou coisa parecida. Não espere que os outros
deixem você perambular por suas ruas, bem como também não
tolerariam, por exemplo, um urso polar. Não há qualquer princípio moral
que diga que ursos polares são maus, mas a presença deles simplesmente
não é compatível com a vida urbana moderna.
Dois tipos de acordos começam a tomar forma aqui. Temos os acordos
feitos com outros indivíduos específicos – eu concordo em pintar sua casa,
e você concorda em pagar pelo serviço. Existem também acordos como
“não vou matar ninguém na rua”. Mas será que esses acordos são
diferentes mesmo? Eu creio que não. Creio que o segundo tipo de acordo
é simplesmente seu acordo com quem quer que seja o dono da rua.
Se carteiras têm donos, o que impede que ruas tenham donos? Carteiras
precisam ter donos, lógico, porque no final das contas, algum indivíduo
decide o que acontecerá com a carteira. Será que vai embora no seu
bolso, ou no meu? Ruas ficam onde estão, mas mesmo assim, muitas
decisões precisam ser tomadas – quem pavimenta a rua? Quando e por
quê? As pessoas estão autorizadas a matar outros nessa rua, ou é uma
daquelas ruas especiais sem matança? E vendedores de rua? E por aí vai.
Naturalmente, se eu sou o dono da Rua 44 e você é o dono da 45 e da 43,
a possibilidade de um relacionamento complexo entre nós passa a ser
não-trivial. E a complexidade é vizinha da ambiguidade, que é vizinha da
incerteza, e aí surgem as Glocks novamente. Ou seja, sendo realista,
creio que é provavelmente uma questão não de donos de ruas, mas sim
donos de unidades maiores e mais bem-definidas – quadras, talvez, ou até
cidades.
Ser dono de uma cidade! Isso sim, seria muito legal. Mas isso nos leva de
volta a um assunto que pulamos por completo, que é a de quem é dono
de quê. Como que isso é decidido? Será que eu mereço ser dono de uma
cidade? Tenho tanto mérito assim? Eu acho que sim. Você pode ficar com
a sua carteira, e eu posso ganhar Baltimore, por exemplo.
Existe uma tal ideia chamada justiça social, e muita gente acredita nela.
O conceito, na verdade, é bastante universal no momento em que
escrevo este texto. O que esse conceito nos diz é que a Terra é pequena e
tem recursos limitados, tais como cidades, dos quais todos queremos o
máximo possível. Mas nem todos podem ser donos de cidades, e nem
sequer de ruas, então precisamos dividir tudo de forma equilibrada.
Afinal, nós seres humanos somos iguais, e ninguém é mais igual que
qualquer outro.
Justiça social parece ser algo muito bonito. Mas há três complicações.
A primeira é que muitas dessas coisas bonitas não servem para
comparações diretas. Se eu ganho uma maçã e você ganha uma laranja,
será que somos iguais. Há margem para discussão – à base de Glocks,
talvez.
A segunda é que mesmo que todos começassem em situação de igualdade
em todos os quesitos, já que as pessoas são diferentes, têm necessidades
e capacitações diferentes e por aí vai, e o conceito de posse significa que
se você é dono de alguma coisa, que aquilo pode ser repassado a outro, é
provável que essa igualdade não dure. Aliás, é basicamente impossível
combinar um sistema onde acordos continuam acordados com um onde a
igualdade permanece igual.
Isso nos diz que se tentarmos garantir igualdade permanente, isso
provavelmente levará a violência permanente. Não sou muito fã de
“provas empíricas”, mas sinto que essa previsão corresponde
razoavelmente bem à realidade.
Mas a terceira, que é a que mata (por assim dizer), é que nós não
estamos, na verdade, criando uma utopia abstrata aqui. Estamos
tentando consertar o mundo real, que, caso não tenha percebido, está
extremamente ferrado. Em muitos casos, não há concordância concreta
sobre quem é dono de quê (E a Palestina, gente?), mas a maioria das
coisas boas no mundo parecem seguir uma cadeia de controle bastante
definitiva.
Se precisarmos começar com uma redistribuição igualitária dos bens, ou
realmente, com qualquer mudança na distribuição atual, nós estaríamos
dificultando nossa própria vida de forma um tanto desnecessária. Seria
como dizer “viemos em paz, acreditamos que todos devem ser livres e
iguais, vamos abraçar”. Alcance as minhas costas com seus braços. Deu
para sentir um objeto no bolso de trás da minha calça? Pois é. É
exatamente o que você imagina. E está carregada. Vá passando sua
cidade/carteira/maçã/laranja, porque sei de outra pessoa que precisa
mais dela do que você.
O objetivo do formalismo é justamente evitar esse desviozinho
desagradável. O formalismo diz: vamos determinar quem tem o quê agora
e dar a eles um certificado bem bonitinho. Não vamos nos adentrar na
questão de quem deveria ter o quê. Afinal, gostando ou não, isso é
simplesmente uma receita para mais violência. Seria muito difícil bolar
uma regra que explicasse por que deveríamos devolver Haifa aos
palestinos sem que a mesma determinasse que deveríamos devolver
Londres aos galeses.
Até aqui, você provavelmente acha que isso é muito parecido com o
libertarianismo. Mas há uma grande diferença.
Libertários podem até achar que Londres deveria ser devolvida aos
galeses. Ou não. Ainda não sei dizer ao certo se consigo decifrar o
posicionamento de Rothbard a respeito desta questão – o que, como
temos visto, já é um problema por si só.
Mas se tem uma coisa que todo libertário acredita, é que a América
deveria ser devolvida aos americanos. Em outras palavras, libertários (os
legítimos, ao menos) acreditam que os EUA são basicamente uma
autoridade usurpadora ilegítima, que imposto é roubo, que eles como
indivíduos são essencialmente tratados como animais portadores de peles
por essa máfia armada estranha e intrometida, que conseguiu convencer
o resto do país, não sei como, a idolatrá-la como se fosse a Igreja de Deus
ou coisa parecida, e não um punhado de caras com distintivos reluzentes
e armas enormes.
Um bom formalista não atura nada disso.
Para o formalista, afinal, o fato de que os EUA podem determinar o que
acontece no continente norte-americano entre o paralelo 49 e o rio
Grande, Alasca e Havaí, etc., significa que eles são a entidade que detêm
a posse do território. E o fato de que os EUA sugam pagamentos regulares
das criaturas peludas supracitadas significa, sem mais nem menos, que
eles detêm esse direito. As diversas manobras e pseudolegalidades
através das quais eles adquiriram tais propriedades não passam de
história. O que importa é que hoje elas pertencem ao país, que não quer
abrir mão delas, bem como você, que não quer me dar sua carteira.
Sob essa ótica, se a responsabilidade de abrir mão de uma fatia de seu
salário faz de você um servo (uma reutilização razoável da palavra,
certamente, para nossa época menos agrícola), então é exatamente isso
que os americanos são – servos.
Servos corporativos, para ser mais exato, pois os EUA não passam de uma
corporação. Ou seja, são uma estrutura formal através da qual um grupo
de indivíduos concordam em agir de maneira coletiva para realizar algum
objetivo.
E daí? Sou um servo corporativo, então. Isso é tão ruim assim? Sinto que
estou bastante acostumado à situação. Por dois dias da semana, eu
trabalho para o Lorde Metido a Besta. Ou para a Produtos Globais
Genéricos. Ou seja quem for. O destinatário do cheque faz diferença, por
acaso?
A diferenciação moderna entre corporações “privadas” e “governos” é, na
verdade, um fenômeno bem recente. Os EUA são certamente diferentes
da Microsoft, por exemplo, em termos do fato que os EUA providenciam
sua própria segurança. Por outro lado, bem como a Microsoft depende dos
EUA para fornecer grande parte de sua segurança, os EUA contam com a
Microsoft para fornecer grande parte de seu software. Não está muito
claro por que isso significa que uma dessas corporações é especial e a
outra é não-especial.
Naturalmente, o propósito da Microsoft não é escrever software, mas sim
gerar lucros para seus acionistas. A Sociedade Americana do Câncer é uma
corporação também, e também tem um propósito – curar o câncer. Eu já
perdi muito trabalho na vida por conta do suposto “software” da
Microsoft, e suas ações, francamente, são uma causa perdida. E o câncer
ainda está por aí.
Agora, caso os CEOs da MSFT ou da SAC estejam lendo isto, eu não tenho
recado nenhum a passar a vocês. Vocês entendem o que estão tentando
fazer, e seus funcionários devem estar fazendo o melhor possível, dentro
de suas capacidades. Caso não estejam, mandem os babacas ao olho da
rua.
Mas eu não faço ideia de qual é o propósito dos EUA.
Ouvi dizer que existe um certo alguém que supostamente administra a
instituição. Mas parece que ele nem sequer consegue despedir seus
funcionários – o que é provavelmente um ponto positivo, porque dizem
que ele não é exatamente um Jack Welch, se é que vocês me
entendem. Aliás, se algum de vocês for capaz de identificar um evento
relevante sequer que aconteceu na América do Norte porque Bush, e não
Kerry, foi eleito em 2004, eu adoraria ouvir essa explicação. Porque
minha impressão geral é basicamente a de que o presidente exerce tanta
influência sobre as ações dos EUA quanto o Imperador Soberano dos Céus,
o Divino Mikado, tem sobre as ações do Japão. Ou seja, praticamente
nenhuma.
Os EUA existem, lógico. Eles tomam atitudes, lógico. Mas o processo pelo
qual eles decidem que atitudes tomarão é tão bizantino que, na visão de
qualquer pessoa fora do Beltway, poderiam consultar entranhas de bois e
daria na mesma.
Portanto, o manifesto formalista é o seguinte: os EUA não passam de uma
corporação. Não são um truste místico consignado a nós ao longo das
gerações. Não são o receptáculo de todas as nossas esperanças e medos,
a voz da consciência ou a espada vingadora da justiça. São simplesmente
uma companhia enorme e antiga que armazena uma montanha imensa de
ativos, não tem noção clara do que está tentando fazer com eles e está
se debatendo freneticamente como um tubarão de 40 litros em um balde
de 20 litros, com tinta vermelha jorrando de seu quaquilhão de guelras.
Para o formalista, o jeito de consertar os EUA é descartando a baboseira
mística da antiguidade, as preces corporativas e gritos de guerra,
determinando quem são os donos desta monstruosidade e deixando que
eles decidam que diabos farão com ela. Não considero loucura dizer que
todas as opções – inclusive reestruturação e liquidação – deveriam ser
consideradas.
Quer o objeto seja os EUA, Baltimore ou sua carteira, o formalista só fica
satisfeito quando posse e controle são equivalentes. Para realizar esta
reformalização, portanto, precisamos determinar quem detém o poder
real nos EUA e distribuir ações para reproduzir essa distribuição da forma
mais exata possível.
Agora, se você acredita na baboseira mística, você provavelmente diria
que todo cidadão deveria receber uma ação, naturalmente. Mas essa é
uma visão um tanto inocente da verdadeira estrutura de poder dos EUA.
Lembre-se que nosso objetivo não é determinar quem deveria ter o quê,
mas sim quem tem o quê.
Por exemplo, se o New York Times decidisse apoiar nosso plano de
reformalização, ele teria muito mais chance de se concretizar. Isso
insinua que o New York Times tem poder expressivo, e
consequentemente, deveria receber um número expressivo de ações.
Mas espere aí. Ainda não respondemos a pergunta. Qual é o propósito dos
EUA? Suponha, puramente para fins ilustrativos, que nós entregássemos
todas as ações ao New York Times. O que você acha que "Punch"
Sulzberger faria com seu país reluzente novinho em folha?
Muita gente, e esse grupo provavelmente inclui o sr. Sulzberger, parece
que considera os EUA um empreendimento beneficente. Bem como a
Sociedade Americana do Câncer, mas com uma missão mais abrangente.
Talvez o propósito dos EUA seja simplesmente fazer o bem no mundo.
Esse é um ponto de vista perfeitamente compreensível. Certamente, caso
ainda reste algo de não-bom no mundo, esse algo pode ser derrotado por
meio de uma megacaridade gigantesca armada até os dentes, com
bombas atômicas, uma bandeira e 250 milhões de servos. Aliás, chega a
ser um tanto espantoso que, considerando os dotes fenomenais desta
grande instituição filantrópica, ela parece fazer tão pouco bem.
Isso talvez esteja ligado ao fato de que ela é gerenciada de forma tão
eficiente que ela não equilibra seu orçamento desde a década de 1830.
Quem sabe, se reformalizássemos os EUA, administrássemos eles como
um verdadeiro negócio e distribuíssemos suas ações entre um grande
conjunto de caridades distintas, cada uma, presumo, com um estatuto
específico guiado por um propósito específico real, isso renderia mais
bem.
Ativos não são tudo que os EUA têm, lógico. Infelizmente, eles também
têm dívidas. Algumas dessas dívidas, tais como LFTs, já estão muito bem
formalizadas. Outras, tais como a seguridade social e o Medicare, são
informais e estão sujeitas a incertezas políticas. Caso esses compromissos
fossem reformalizados, seus recipientes só teriam a ganhar.
Naturalmente, eles então virariam títulos negociáveis que poderiam ser,
por exemplo, vendidos. Talvez em troca de crack. Assim sendo, a
reformalização exige que haja uma distinção entre propriedade e
caridade, que é um problema complicado, mas importante.
Nada disso responde a questão: estados-nações, tais como os EUA, são
sequer úteis? Se reformalizássemos os EUA, responder a pergunta caberia
a seus acionistas. Talvez cidades funcionem melhor sob titularidade e
gestão independentes. Nesse caso, elas deveriam passar por uma cisão,
formando corporações distintas.
A existência de cidades-estados bem-sucedidas, tais como Cingapura,
Hong Kong e Dubai, certamente propõe uma resposta para esta questão.
Seja qual rótulo escolhermos, esses lugares são notáveis por sua
prosperidade e relativa ausência de política. De fato, talvez a única
medida possível para tornar esses lugares ainda mais estáveis e seguros
seria transformá-los de corporações efetivamente de família (Cingapura e
Dubai) ou subsidiárias (Hong Kong) a um domínio público anônimo,
eliminando assim o risco de eclosão de violência política a longo prazo.
Certamente, a ausência de democracia nesses estados-cidades não faz
com que elas sejam comparáveis à Alemanha nazista ou à União Soviética
em qualquer sentido. Quaisquer restrições à liberdade individual
instauradas lá parecem ter o foco principal de impedir o advento da
democracia – uma preocupação compreensível, considerando o histórico
do governo nas mãos do Povo. De fato, tanto o Terceiro Reich quanto o
mundo comunista frequentemente afirmavam representar o verdadeiro
espírito da democracia.
Como vemos em Dubai, especialmente, um governo (como qualquer
corporação) é capaz de providenciar atendimento excelente aos
consumidores sem ser dono dos consumidores, e sem que os consumidores
sejam seus donos. Grande parte dos moradores de Dubai nem são
cidadãos. Se o Sheikh Al Maktoum por acaso tem algum plano ardiloso em
mente para se apoderar de todos eles, acorrentá-los e forçar que eles
trabalhem nas minas de sal, seus métodos são muito labirínticos.
Dubai, como localização, não tem praticamente nada que seja digno de
recomendação. O clima é horrível, os pontos turísticos são inexistentes e
a vizinhança é pavorosa. É pequena, no meio do nada e cercada de
maníacos fanáticos por Alá com uma afinidade muito suspeita por
centrífugas de alta velocidade. Mesmo assim, um quarto dos guindastes
do mundo estão lá, e a cidade cresce como uma erva daninha. Se
deixássemos que os Maktoums administrassem, digamos, Baltimore, o que
aconteceria?
Uma conclusão do formalismo é que a democracia – como era o consenso
entre a maioria dos escritores de antes do século XIX – é um sistema de
governo ineficaz e destrutivo. O conceito de democracia sem política não
faz um pingo de sentido, e como temos visto, política e guerra
representam um continuum. A política democrática é melhor
compreendida como uma forma de violência simbólica, como a decisão de
quem vence uma batalha com base no número de tropas que cada lado
trouxe.
Formalistas atribuem o sucesso da Europa, Japão e EUA após a Segunda
Guerra não à democracia, mas sim à ausência dela. Mesmo mantendo as
estruturas simbólicas da democracia, bem como o Principado romano,
que manteve o Senado, o sistema ocidental pós-guerra delegou quase
todo o verdadeiro poder decisório a seus funcionários públicos e juízes,
que são “apolíticos” e “não-partidários” – ou seja, não democráticos.
Já que, na ausência de um controle externo eficaz, esses serviços
públicos são basicamente autogovernados, como qualquer
empreendimento não administrado, eles frequentemente parecem existir
e expandir sem motivo além da pura existência e expansão. Mas eles
evitam o sistema de clientelismo que invariavelmente brota quando as
tribunas do povo detêm poder real. E fazem um trabalho razoável,
embora longe de magnífico, em preservar um arremedo das leis.
Em outras palavras, a “democracia” parece funcionar porque, na
realidade, ela não é uma democracia. É uma implementação medíocre do
formalismo. Esse relacionamento entre o simbolismo e a realidade passou
por uma prova educativa, embora deprimente, na forma do Iraque, onde
não há qualquer tipo de lei, mas onde implementamos a forma mais pura
e elegante da democracia (a representação proporcional) e nomeamos
ministros que parecem administrar mesmo seus ministérios. Por mais que
a história não realize experimentos controlados, a comparação entre o
Iraque e Dubai é certamente um bom argumento a favor do formalismo ao
invés da democracia.
Você também pode gostar
- Uma Carta Progressistas de Mente AbertaDocumento371 páginasUma Carta Progressistas de Mente AbertaMarco Antônio de Lima SampaioAinda não há avaliações
- Manual de Debate Político: Como vencer discussões políticas na mesa do barNo EverandManual de Debate Político: Como vencer discussões políticas na mesa do barAinda não há avaliações
- Por que não acredito mais no Socialismo e ComunismoDocumento3 páginasPor que não acredito mais no Socialismo e ComunismoAnderson MunizAinda não há avaliações
- Existencialismo e Humanismo de Jean-Paul Sartre (Análise do livro): Análise completa e resumo pormenorizado do trabalhoNo EverandExistencialismo e Humanismo de Jean-Paul Sartre (Análise do livro): Análise completa e resumo pormenorizado do trabalhoAinda não há avaliações
- O lado oculto da esquerda: ideias coletivistas e a lavagem cerebralDocumento35 páginasO lado oculto da esquerda: ideias coletivistas e a lavagem cerebralmarcos souzaAinda não há avaliações
- Tratado geral sobre a fofoca: Uma análise da desconfiança humanaNo EverandTratado geral sobre a fofoca: Uma análise da desconfiança humanaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- A Era da curadoria: O que importa é saber o que importa!No EverandA Era da curadoria: O que importa é saber o que importa!Nota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- Foucault discute a ética da existência na Antiguidade versus o código moral cristãoDocumento5 páginasFoucault discute a ética da existência na Antiguidade versus o código moral cristãoCoridon Gide100% (1)
- O fim da justiça no Brasil - Ludmila Lins Grilo (Curso)Documento11 páginasO fim da justiça no Brasil - Ludmila Lins Grilo (Curso)armandoAinda não há avaliações
- Crise Civilizacional e Pensamento Decolonial: Puxando Conversa em Tempos de PandemiaNo EverandCrise Civilizacional e Pensamento Decolonial: Puxando Conversa em Tempos de PandemiaAinda não há avaliações
- A Ascensão dos Novos Puritanos: Lutando Contra a Farra dos ProgressistasNo EverandA Ascensão dos Novos Puritanos: Lutando Contra a Farra dos ProgressistasAinda não há avaliações
- A intolerância nas redes: a construção do discurso intolerante em comentários de internetNo EverandA intolerância nas redes: a construção do discurso intolerante em comentários de internetAinda não há avaliações
- 07 Ideologias PDFDocumento262 páginas07 Ideologias PDFAlexandre Ferreira LopesAinda não há avaliações
- Aula 3 Direitos HumanosDocumento19 páginasAula 3 Direitos HumanosVinicius SilvaAinda não há avaliações
- Doutrina Zero - Módulo 2, Aula 1Documento11 páginasDoutrina Zero - Módulo 2, Aula 1mentoriatransformadamenteAinda não há avaliações
- Entrevista de Heitor de Paola A Um Grupo de Alunos de Olavo de CarvalhoDocumento10 páginasEntrevista de Heitor de Paola A Um Grupo de Alunos de Olavo de CarvalhoElemar Dos Santos JúniorAinda não há avaliações
- SOBRE A POSSIBILIDADE DA LIBERDADE NO MUNDO CONTEMPORÂNEONo EverandSOBRE A POSSIBILIDADE DA LIBERDADE NO MUNDO CONTEMPORÂNEOAinda não há avaliações
- Coisa de menina?: Uma conversa sobre gênero, sexualidade, maternidade e feminismoNo EverandCoisa de menina?: Uma conversa sobre gênero, sexualidade, maternidade e feminismoNota: 4 de 5 estrelas4/5 (5)
- 21 Ideias do Fronteiras do Pensamento para Compreender o Mundo AtualNo Everand21 Ideias do Fronteiras do Pensamento para Compreender o Mundo AtualNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- BALL - 2004 - Aonde Vai A Teoria PoliticaDocumento14 páginasBALL - 2004 - Aonde Vai A Teoria PoliticaShawn RomanAinda não há avaliações
- Gordon Clark Uma Apreciação Cristã Da Filosofia Contemporânea PDFDocumento9 páginasGordon Clark Uma Apreciação Cristã Da Filosofia Contemporânea PDFFrancisco AlexAinda não há avaliações
- As origens do pensamento neo-ateísta - As loucuras de Friedrich NietzscheDocumento4 páginasAs origens do pensamento neo-ateísta - As loucuras de Friedrich NietzscheMarcelo Paulino RochaAinda não há avaliações
- Rousseau e a tolerância religiosa: uma reflexão à luz dos Direitos HumanosNo EverandRousseau e a tolerância religiosa: uma reflexão à luz dos Direitos HumanosAinda não há avaliações
- Desculpe Me Socialista Desmascarando As 50 Mentiras Mais ContadasDocumento192 páginasDesculpe Me Socialista Desmascarando As 50 Mentiras Mais Contadasismaeljoao100% (1)
- Horkheimer - Teoria Crítica Ontem e Hoje - Versão Do EspanholDocumento13 páginasHorkheimer - Teoria Crítica Ontem e Hoje - Versão Do EspanholBrenda VilelaAinda não há avaliações
- Palinódia Filosófica ao Niilismo: Uma coletânea de aforismos extemporâneos e textos autoraisNo EverandPalinódia Filosófica ao Niilismo: Uma coletânea de aforismos extemporâneos e textos autoraisAinda não há avaliações
- O fundamentalismo visto por diferentes perspectivasDocumento8 páginasO fundamentalismo visto por diferentes perspectivasedmilsonAinda não há avaliações
- Ideologia de gênero: E a crise de identidade sexualNo EverandIdeologia de gênero: E a crise de identidade sexualNota: 2 de 5 estrelas2/5 (4)
- Olavodecarvalho Entrevista RepublicaDocumento8 páginasOlavodecarvalho Entrevista RepublicaDélio De Carvalho DelmaestroAinda não há avaliações
- O pensamento de Freud sobre a civilização e o mal-estar humanoDocumento8 páginasO pensamento de Freud sobre a civilização e o mal-estar humanoWellington Felipe de CastroAinda não há avaliações
- Liberdade de expressão e discurso de ódio: por que devemos tolerar ideias odiosas?No EverandLiberdade de expressão e discurso de ódio: por que devemos tolerar ideias odiosas?Nota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Psicologia Do Bolsonarismo - Por Que Tantas Pessoas Se Curvam Ao MitoDocumento90 páginasPsicologia Do Bolsonarismo - Por Que Tantas Pessoas Se Curvam Ao MitoRafaela Salgueiro100% (1)
- A Atitude QuestionadoraDocumento89 páginasA Atitude Questionadorarcunha33Ainda não há avaliações
- Deveres Especiais Na Formação Do Contrato de TrabalhoDocumento14 páginasDeveres Especiais Na Formação Do Contrato de TrabalhoHélia GasparAinda não há avaliações
- Cavaleiro Eleito dos XV Grau educa cidadãosDocumento1 páginaCavaleiro Eleito dos XV Grau educa cidadãosFermino Charão100% (1)
- A Flor-De-lis e o Leao - Maurice DruonDocumento279 páginasA Flor-De-lis e o Leao - Maurice Druonroberto albuquerque100% (1)
- EMPREGADORA: TRINDADE BARBOSA ANALISES CLINICAS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, Inscrita No CNPJDocumento8 páginasEMPREGADORA: TRINDADE BARBOSA ANALISES CLINICAS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, Inscrita No CNPJTamara MendesAinda não há avaliações
- Exportacao BrasileiraDocumento4 páginasExportacao BrasileiraManutençãoAinda não há avaliações
- Lei Orgânica de Novo Hamburgo - RSDocumento37 páginasLei Orgânica de Novo Hamburgo - RSBernardo SoaresAinda não há avaliações
- O Estranhamento Na Ontologia Do Ser SocialDocumento12 páginasO Estranhamento Na Ontologia Do Ser SocialDomingas RosaAinda não há avaliações
- PROJECTO ManuDocumento9 páginasPROJECTO ManuManuela RitaAinda não há avaliações
- Historia de RessonanciaDocumento39 páginasHistoria de RessonanciaLeonardo SouzaAinda não há avaliações
- Ação de Indenização Por Danos Morais - Abandono Afetivo. - Prazo Prescricional - 3 Anos CC-02Documento3 páginasAção de Indenização Por Danos Morais - Abandono Afetivo. - Prazo Prescricional - 3 Anos CC-02Angelo MestrinerAinda não há avaliações
- Pericularidade Negada MotociclistaDocumento1 páginaPericularidade Negada MotociclistaSwenny SilvaAinda não há avaliações
- Como Identificar A Peça Exame de Ordem 2 Fase PenalDocumento7 páginasComo Identificar A Peça Exame de Ordem 2 Fase PenalAndrei BaroniAinda não há avaliações
- Relatorio Final CST em Gestao de Seguranca Privada Projeto de Extensao I Gestao de Seguranca PrivadaDocumento5 páginasRelatorio Final CST em Gestao de Seguranca Privada Projeto de Extensao I Gestao de Seguranca PrivadajanilsonnolliveiraAinda não há avaliações
- Substabelecimento: Roberta Beatriz Do NascimentoDocumento3 páginasSubstabelecimento: Roberta Beatriz Do NascimentoPeter HomerAinda não há avaliações
- Stakeholders.: Revista de Gestão Social e Ambiental - RGSA, São Paulo, v. 7, N. 3, P. 52-71, Out./dez., 2013Documento20 páginasStakeholders.: Revista de Gestão Social e Ambiental - RGSA, São Paulo, v. 7, N. 3, P. 52-71, Out./dez., 2013Paulo AlvesAinda não há avaliações
- Eurides - Março 2021 - As CEBs Como Espaço de Feminismo Comunitário - Revisto Por Solange - Pronto para PublicarDocumento2 páginasEurides - Março 2021 - As CEBs Como Espaço de Feminismo Comunitário - Revisto Por Solange - Pronto para PublicarEurides Alves de OliveiraAinda não há avaliações
- Ilovepdf MergedDocumento885 páginasIlovepdf MergedLuis ValenteAinda não há avaliações
- Contrato de Prestação de Serviços de Software Apos 13-05-21Documento4 páginasContrato de Prestação de Serviços de Software Apos 13-05-21Diego Martins - Deal4bAinda não há avaliações
- Gov - Edison Lobão - Denúncia de Suposta Fraude em DiáriasDocumento6 páginasGov - Edison Lobão - Denúncia de Suposta Fraude em DiáriasREMOCIF OUVIDORIAAinda não há avaliações
- Revista Estudos Históricos - FGVDocumento229 páginasRevista Estudos Históricos - FGVvelhobianoAinda não há avaliações
- Af 5 FH 200S - Port 2Documento2 páginasAf 5 FH 200S - Port 2Wander EnoreAinda não há avaliações
- Criterios para Indenizacao em Processos PDFDocumento148 páginasCriterios para Indenizacao em Processos PDFVinícius Martins GalilAinda não há avaliações
- PRLP 12 - PL 1949 2007Documento43 páginasPRLP 12 - PL 1949 2007Deivison JoaquimAinda não há avaliações
- Desenho Técnico de ModaDocumento44 páginasDesenho Técnico de ModaJulyana Biavatti85% (13)
- Resumo-Direito Administrativo-Aula 01-Principios Da Administracao-Celso SpitzcovskyDocumento2 páginasResumo-Direito Administrativo-Aula 01-Principios Da Administracao-Celso SpitzcovskyAle FonsecaAinda não há avaliações
- Definições kantianas sobre uso público e privado da razãoDocumento5 páginasDefinições kantianas sobre uso público e privado da razãoLuccas_LeeAinda não há avaliações
- Multiparentalidade e seus efeitos jurídicosDocumento31 páginasMultiparentalidade e seus efeitos jurídicosUgo MaiaAinda não há avaliações
- Carta aos militantes da Consulta PopularDocumento110 páginasCarta aos militantes da Consulta PopularPaulo Henrique Oliveira LimaAinda não há avaliações
- Diario Oficial 2019-07-24 CompletoDocumento64 páginasDiario Oficial 2019-07-24 CompletoGiovanne MenezesAinda não há avaliações
- SCL #004 - Instrução Inicial - Processos de Compra e Contratação, Versão 02Documento11 páginasSCL #004 - Instrução Inicial - Processos de Compra e Contratação, Versão 02Natália de Almeida SilvaAinda não há avaliações