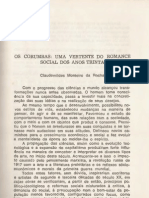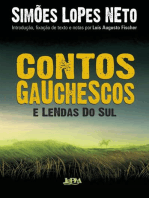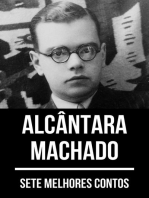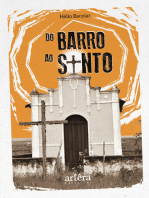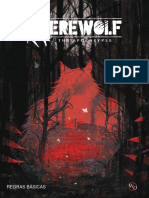Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
1270-Texto Do Artigo-3591-3733-10-20160720
Enviado por
Luciano Serafim0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
7 visualizações14 páginasTítulo original
1270-Texto do artigo-3591-3733-10-20160720
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
7 visualizações14 páginas1270-Texto Do Artigo-3591-3733-10-20160720
Enviado por
Luciano SerafimDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 14
240
BERNARDO ÉLIS REVISITADO
ALBERTINA VICENTINI *
A estréia literária de um escritor é um processo bastante
interessante de iniciar um processo crítico em relação a um conjun-
to de obra expressiva como a de Bernardo Élis. Permite trabalhar
a comparação e o conjunto cultural que abona a obra rastreando-a
pela sua origem e percebendo nela as suas hesitações iniciais, suas
permanências, suas mudanças e as suas soluções finais. Também fixa
um marco periodológico capaz de verificar um contexto específico
de estréias, isto é, em relação a outras obras também estreantes ao
mesmo tempo, o compasso e o descompasso quer da própria obra,
quer da crítica que vem se fazendo em torno dela e as direções gerais
e as diferentes resoluções que tomou a própria literatura frente a de-
terminadas situações e temas históricos.
Por isso, talvez, perceber Bernardo Élis através de sua obra
de estréia Ermos e Gerais, de 1944, é tomar um via histórica de aná-
lise crítica, capaz de já perceber um lugar para o texto num processo
literário que ficou para trás e que caminhou até os dias de hoje, e que
pertence tanto à obra quanto à literatura. Daí, uma necessidade impe-
rativa que cresce - a de perceber toda a obra do escritor, pelo menos
a produzida até agora, e todo um contexto de origem, na sociedade,
na história, na crítica e na própria literatura.
Então, revisitar a obra de Bernardo Élis não é fácil emprei-
tada. Ele mesmo, o escritor, é autor de inúmeros ensaios culturais e
* Professora Titular do Departamento de Letras da Universidade Católica de Goiás.
Doutora em Teoria Literária e Literatura Comparada.
241
sociológicos, sobre o país e Goiás, pesquisas históricas e debates,
álbuns de fotografia e artes plásticas, crônicas jornalísticas e discursos,
entremeados aos seus romances, novelas, poesias e dezenas de contos,
que cobrem hoje 60 anos de vida intelectual, literária e jornalística,
no Estado e no Brasil. E a sua bibliografia extensa e variada já se
reproduziu não só em diferentes teses, monografias, ensaios e artigos
locais e nacionais, como também já frequentou as linhas interpreta-
tivas das antologias, seletas e perfis biobibliográficos de autores da
atualidade, o cinema e a televisão, e as traduções alemã e inglesa.
Tudo isso ajuda, e muito, porque estabelece coordenadas histórico-
-ideológico-estruturais da obra, mas também dificulta o trabalha crítico
realizado num tempo exíguo.
Nesse sentido, o que se pode encontrar como unidade na
obra de Bernardo Élis, para além da primeira aparência de volume e
diversidade de gêneros, são duas afirmativas: primeira, a de que ela é
uma obra de fundamentação local, isto é, tanto os seus ensaios, quanto
produção literária, quanto pesquisa são voltados, em pelo menos 90%,
para as questões específicas de Goiás: segundo, que dentro dessa fun-
damentação, é sobretudo a sua orla histórica, como documentação e
registro, que aparece. São seus temas preferidos os vultos goianos, sua
histórica e contribuição para o Estado e a Nação, um certo anedotário
regional, na linha do registro de alguns de nossos atuais regionalistas,
anedotário tanto de causos, como da procedência de certos vocábulos
e denominações, como é o seu longo ensaio-pesquisa sobre os nomes
das localidades goianas, que tem o sugestivo título de Cidades goianas,
cada nome que faça-me o favor, e toda a sua produção literária que,
indiscutivelmente, está nessa perspectiva histórica.
É assim que podem, e cremos até que devem, ser vistos por
exemplo, praticamente todos os seus ensaios, mesmo os de perspecti-
va literária ou plástica. Bernardo Élis é pesquisador da vida e da obra
dos poetas e intelectuais goianos Félix de Bulhões, Octo Marques,
Bartolomeu Cordovil sobre quem escreveu monografias; testemunhou
e depôs, ainda na orla histórica, sobre Pedro Gomes, Altamiro de
Moura Pacheco, e outras personalidades goianas; escreveu crônicas
242
sobre o circunstancial que saía nos jornais do Estado; escreveu artigos
e ensaios literários sobre Eli Brasiliense, Vitor de Carvalho Ramos,
Hugo de Carvalho Ramos, Léo Lince, mesmo que entre os nacionais
Monteiro Lobato, Josué Montello, Afonso Arinos, Tristão de Ataíde,
Valdomiro Silveira, Paulo Dantas, etc., para só citar alguns, além de
inúmeros ensaios sobre a conceituação e o momento histórico do
regionalismo na literatura brasileira e sua relação com o modernismo.
E de forma mais ou menos incisiva, é também nessa di-
mensão que julgamos devam ser percebidos, por exemplo, os seus
romances. Se a História é mais literariamente trabalhada n’O Tronco,
o seu romance de 1956, em Chegou o governador, de 1986, ela é
frontal e afrontiva à própria literatura. Na monografia que escreve
Bernardo Élis sobre o poeta goiano Félix de Bulhões, o indício na
narrativa histórica “real” que atormenta a narrativa que deve ser a
narrativa literária do escritor, é clara. Se Félix de Bulhões tem mum
descendência que vai chegar a Leopoldo Bulhões, um vulto goiano
em princípio considerado eminente pelo autor, ele tem uma ascendên-
cia no Cel. de Ordenanças José Rodrigues Jardim, que teve marcada
influência política em Goiás entre 1820 e 1842, quando falece no RJ
como senador. Foi o Cel. casado com Ângela Ludovico de Almeida,
filha de Brás Martins de Almeida e sua mulher Potenciana Ludovico
de Almeida, rica gente goiana. Segundo Bernardo Élis, essa Ângela
é uma dos vultos femininos mais fascinantes da história goiana, e
deve ter sido mulher inteligente...Ainda solteira teve dois filhos com
o capitão-general de Goiás, D. Francisco de Assis Mascarenhas, um
dos melhores governos do Brasil-Colônia. Essa é a história que o livro
conta, a partir da pesquisa histórica e do fascínio desta no escritor - o
romance de Ângela com D. Francisco, os filhos e o seu casamento
posterior com José Rodrigues Jardim, na época um simples alferes. O
horizonte da História, nitido e consciente na obra, acaba por engolir
a literatura, invertendo a relação que tem a História de converter-se
em literatura. A intenção de marcar o vultode D. Francisco e adjetivar
o seu governo como progressista na história de Goiás está na raiz do
livro, desnorteando as intenções literárias.
243
Os seus livros de contos tratam a História num outro nível,
bem menos explícito, mas ainda assim é sob a sua ótica que eles se
constróem e, nesse caso, constróem-se muito bem. Na realidade,
podem-se entrever pelos menos três tempos históricos na contística
de Bernardo Élis - um passado remoto, de certa forma grandioso e
épico, mas que está sempre ausente, e é reinstaurado na memória,
paradoxalmente, através da decadência - lembrando muito o visiona-
rismo de Euclides da Cunha, nos seus ensaios de Outros contrastes,
intitulados “Uma volta ao passado” e “Entre ruínas” em que o sujeito
vê uma tapera, ou uma ruína qualquer, e daí retoma um tempo que
já existiu mas que não existe mais - um recurso muito usado pelos
regionalistas literários novecentistas e do início deste século; um se-
gundo passado, menos remoto, já mudado e que pode ser o presente
da história narrada; e um terceiro tempo mais atual, contemporâneo
do escritor, e que pode ser ou não o presente da estória, mas que,
em algum lugar, é indicado nela. Um pequeno exemplo do conto “A
crueldade benéfica de Tambiú”, do livro Ermos e Gerais resume estes
três tempos num enfiada só. Diz Bernardo Élis:
“Amaro Leite, fundada pelo bandeirante que lhe deu o
nome, era uma povoação cadavérica do então anêmico
sertão goiano.
Da cidade de outro, só restava uma meia dúzia de casas
velhas, sujas, arruinadas, tocaiando o tempo na dobra
da serra imensa. E na embriaguez do silêncio purulento
de ruínas, relembrava glórias mortas, tropel de ban-
deiras, lufa-lufa dos escravos minerando nos arredores
auríferos.
A tristeza irônica das grandes taperas mostrava o rico
fastígio burguês, gordo e fácil daqueles tempos de Brasil
curumim.
Isto era Amaro Leite em 1927. Hoje, deram-lhe umas
injeções de óleo canforado de progresso. Abriram uma
estrada de automóvel que se afunda pelo norte até o
médio Tocantins e a velha cidade refloresce com uma
244
pujança agradecida. Pois bem, aí em 1927, morava um
tipo preguiçoso...” (p. 80).
Os três tempos históricos - o da mineração, o de 1927, e o de
1944 - tratados nos contos dos livros com discrição literária, permitem
comparações implícitas capazes de detectar a própria “margem da
História” por onde caminham tanto o sertão quanto o sertanejo, ambos
os temas centrais do livro, de fato a beira do caminho desfrequentado
da própria História do Brasil, como diria Euclides, o caminho por
onde passam os decadentes e desvalidos; além de se oferecer como
recurso ao narrador para o pretexto da recordação, ou do visionaris-
mo, ou do impressionismo estílístico e narrativo que tem sido marca
fundamental de Bernardo Élis. São as imagens euclidianas que se
“esfumam vagamente no escuro a recordarem figuras destingidas de
antiquíssimos quadros descoloridos...” (p. 455).
Ermos e Gerais (e a obra literária de Bernardo Élis de
modo geral) simplesmente recorta, de dentro dessa vasta obra do
autor de temática histórica local, a temática rural, tratada na literatura
brasileira sob o nome de regionalismo desde o fim do século passado
e que tem tido como emblema de base justamente uma certa função
compensatória que é, afinal, uma denominação peculiar para um fato
de fundamentação histórica: o regionalismo literário tem sido visto
como uma corrente literária que busca registrar (daí a denominação
compensatória) fatos da sociedade rural que se situam numa situação
de risco histórico, isto é, sob o risco de perderem-se na sociedade total
dada uma mudança social mais decisiva. A importância de registrar
esses fatos dessa sociedade rural está para o escritor regionalista an-
corada numa certa autenticidade e validade identitária que os hábitos e
os costumes do campo, e no caso goiano do sertão, têm para com uma
sociedade maior, uma visão que não deixava de ser rousseauísta afinal.
Dentre os dois traços fundamentais que Bernardo Élis estabe-
lece para o regionalismo literário, um deles é de base fundamentalmen-
te histórica. Diz ele, na sua Monografia sobre Valdomiro Silveira: “o
rótulo regionalismo para nós... representa uma forma literária do
Brasil tradicional, não urbanizado, refletindo uma sociedade não in-
245
dustrializada” (“Valdomiro Silveira e o caipira”, 4, p. 34) e completa,
no seu texto sobre Monteiro Lobato, o porquê dessa delimitação às
sociedades não urbanizadas: “o industrialismo-capitalista universa-
lista e uniformiza a cultura, aplainando as peculiaridades regionais...”
(4, p.129). Situada, portanto, num tempo histórico recuado, mais tra-
dicional, a sociedade rural-sertaneja determina a identidade regional,
a peculiaridade, a diferença fundamental que é preciso, segundo ele,
registrar, e que acaba tão logo o presente nele se instala.
Claro, o registro desse tempo à época da estréia literária
de Bernardo Elis com Emos e gerais já não significava mais só o
registro identitário como ele quer deixar ver. E nem ele praticou
assim essa sua concepção. A literatura regionalista já não trabalhava
a idealização a não ser secundariamente (se bem que até hoje certos
escritores regionalistas insistem nisso). Desde Silvio Romero e Eu-
clides da Cunha que a literatura incorporara o realismo crítico de que
o romance nordestino de 30, muito especialmente Graciliano Ramos,
viria se servir. O pensamento social brasileiro já discutira a questão
de identidade em suas bases de raça e natureza, usos e costumes, base
social, e já ao tempo de Ermos e Gerais, a discutia na perspectiva do
desenvolvimento econômico. Nada mais errôneo que não perceber que
obras comoi Os Sertões, de Euclides da Cunha, Tropas e Boiadas de
Hugo de Carvalho Ramos, Macunaíma de Mário de Andrade, Vidas
Secas, de Graciliano Ramos e Fronteira de Cornélio Pena represen-
tam cada uma delas as sínteses daqueles temas que o pensamento
social brasileiro discutiu do final do século passado ao final dos anos
trinta deste, na literatura. Há muito a literatura regionalista aprendera
que, justamente por ser um registro histórico, era preciso haver fide-
dignidade e registrar o que era como era, momentos em que assumiu
os foros da denúncia social do próprio tempo retroagido, defasado,
descompassado, e que Bernardo Élis soube desenvolver com mestria.
Essa nossa insistência com a intecionalidade histórica de
Bernardo Elis, e que aparece de forma nítida em toda a sua obra, tem
sua razão de ser, para nós, portanto, não no próprio regionalismo
bernardiano, porque aí ele já seria esperado, mas, principalmente,
246
naquilo que pensamos ser mais importante na sua novidade enquanto
estréia literária.
Quando discute, na sua monografia sobre Valdomiro as dife-
renças deste com Monteiro Lobato e Guimarães Rosa, Bernardo Élis
acusa nestes um tom escarninho que não encontra naquele e explica:
“Valdomiro conheceu a sociedade ou a cultura caipira
num período em que ela apresentava ainda grande pu-
jança, num período em que sua desorganização ainda
não era muito acentuada pelos elementos pertubadores
decorrentes da civilização urbano-tecnológica, como a
viu e viveu Monteiro Lobato, ele mesmo profundamente
empenhado em promover a transformação da sociedade
para o rumo da industrialização e da tecnologia. Essa
desorganização cultural e social abala hoje todo mundo
rural...” (p. 38).
Essa pequena análise de Bernardo Élis é reveladora em dois
sentidos principais: revela o grau da sua consciência histórica das
mudanças; e o entendimento de que os contextos sociais e culturais
andam junto com as formas literárias - no caso de Monteiro Lobato, é
o ingresso do mundo rural numa ordem tecnológica e capitalista que
lhe dá o tom, a nova forma, do escarnninho, ou seja, da zombaria, da
mofa ou do motejo.
Ora, mais do que uma filiação a essa literatura de motejo
de Monteiro Lobato, que aqui e acolá de fato aparece na obra de
Bernardo Elis, qual a grande novidade de Ermos e Gerais? Vários
críticos, de forma dispersa, atinaram com uma diferença no livro
que não abordaram a não ser de forma atomizada. Alguns chegaram
a perceber, Tristão de Ataíde foi um deles, um certo humor negro no
livro, que comparam a certos contos de Hoffmann e Edgar Poe, e
que de fato o livro contém - nada melhor que “O caso inexplicável
da orelha de Lolô” ou o “O louco da sombra” para exemplos disso:
também, o tom de zombaria foi detectado, e, de fato, existe naquela
caveira branquinha, debaixo d’água, olhando para “A mulher que
247
comeu o amante”; vários outros insinuaram o tom macabro, às vezes
trágico, às vezes zombeteiro, às vezes irônico do livro, em “Nhola
e a cheia do Corumbá”, “O menino que morreu afogado”, “Trechos
de vida”, etc. O naturalismo cru de “André louco” é assustador além
de trágico; e a paródia ao conto de Hugo de Carvalho Ramos “Pelo
caiapó velho” n’As morféticas” é notável. Tudo isso existe no livro,
e na da disso é tão novo, no entanto.
Só que há um ponto de contato entre todas essas formas e
que não é necessariamente o cômico, ou o surreal, ou o fantástico,
ou o paródico, embora todas essas formas estejam presentes no livro.
Esse ponto é o grotesco, a forma absolutamente feia e anormal que nos
pede o sentimento do terror, do assustador, da repugnância, segundo
Wolfgang Kayser, e que convive justamente com o macabro, o sinistro,
o abismal. De repente, dentro do texto, o mundo desaba e a sensação
que temos, quando imaginamos o corpo disforme e maltratado de
André, em Ändré louco” , é a de um limite que não se poderia ter
transposto sem perder a humanização. Por mais trágica que seja a cena
e a piedade humana que ela incute em nós, impossível é não sentir
repugnância pela imagem que temos em mente; e por mais que seja
hilária ou cômica a cena das morféticas atacando o homem na rede
ou correndo atrás dele com aqueles seus tocos de pernas, a sensação
que temos do seu feitio é a do asco e do nojo.
O grotesco, portanto, convive no livro com as mais variadas
formas literárias e busca suas resoluções em variadas perspectivas
- também essa é uma novidade inelutável do livro. Até então, essa
convivência não vinha sendo tentada no grau como a coloca Bernardo
Élis. Monteiro Lobato, ele próprio viu muito bem, em Urupês e em
Cidades Mortas fizera uma associação do cômico ao grotesco. Só que
o seu grotesco não excede o bizarro. Um bom exemplo disso é a própria
figura do Jeca Tatu, grotesca, bizarra, mas cômica, nunca repugnante.
De outro lado, a literatura de base paródica e cômica tinha
já atingido um ponto alto, com o próprio Monteiro Lobato, e Mário
de Andrade, no seu Macunaíma, e seguia a rota certa do anedotário
sertanejo com as Histórias de Alexandre de Graciliano Ramos, numa
filiação direta dos Casos de Romualdo de Simões Lopes Neto. Mas
248
o paródico aqui, se desmitificava, ou até zombava diretamente, como
é o caso de Simões, também não repugnava. Estava mais na linha
do cômico que, afinal, gera a alegria, mais na linha de imitação e da
caricatura, no caso beirando ao folclore, que da criação propriamente,
como a discerniu Baudelaire.
Em Bernardo Élis, o grotesco convive com o cômico, sim,
que gera o riso, mas que tem muito mais de profundo e de espantoso,
que o riso da alegria, inocente. O riso de Bernardo Elis em Ermos Ge-
rais não é inocente. Aliás, um dos traços mais modernos do grotesco
do livro é o da crueldade e da frieza. Por trás do corpo disforme de
André, há a crueldade plácida de um homem e de uma cidade inteira;
na morte de Joana, ao lado do grotesco do marido que comia pernas de
bebês, a crueldade de Dedé; no “Assassinato por tabela” a crueldade
e a frieza com que o marido faz a esposa matar o amante; a frieza da
“Mulher que comeu o amante”, todos eles são traços marcantes no
livro e que serão encontrados nas histórias de hoje, nos contos de um
Rubem Fonseca, ou no cinema americano dos anos 80, todos eles,
como Bernardo Elis, influenciados diretamente pelo naturalismo
como forma de interpretação social, e com que o grotesco moderno
tem muito a ver desde Goya, pelos menos, ou Velásquez. Uma frieza
insistente, distante, reveladora de um abismo, como diz Kayser, cheia,
hoje, de carnificina, de um exagero para lá de consciente, indicando,
mesmo a decadência da forma.
Mas a produtividade desta forma, em Bernardo Élis, não
para aí. Mikhail Bakhtin, na sua clássica obra A Cultura Popular na
Idade Média e no Renascimento, evidencia todo o tempo as origens
populares do grotesco e o seu sentido de morte e vida, renovação pela
mudança. Gênero da praça pública, acompanhante do carnaval, o
grotesco é a exata expressão da mudança histórica, aquela mudança
decisiva por que passam os tempos. Tanto é que ele analisa a obra de
Rabelais no contexto do Renascimento, contexto que todos nós sabe-
mos de um sincretismo e uma ambiguidade de formas espetaculares. O
grotesco, então, não é um gênero que está na base da estabilidade, ao
contrário, é ambivalente em sua natureza, dúbio, indicando forquilhas
249
diversas. Nesse sentido, suas imagens são todas de permissividade,
as imagens não oficiais e opostas ao gênero sério, as imagens que
implicam no homem pelo avesso, desierarquizado, universalizado.
Ora, o que se percebe em um conto como “A mulher que
comeu o amante”, por exemplo, é todo esse conjunto de imagens
de que nos fala Bakhtin. Basta uma pequena olhadela para perceber
os sintomas de ambivalência do casal - ele velho; ela nova, como a
sintetizar uma mudança histórica a acontecer, em que se troca o velho
pelo novo, como nas festas populares da passagem do ano, em que se
mata o velho, para se renovar; em seguida, o motivo da morte - um
plano material: a mulher, Camélia, queria vestir vestido bonito, calçar
chinelos, untar cabelo com brilhantina cheirosa, ter a sensualidade
saciada; após a morte do velho, a imagem grotesca do canibalismo,
da devoração do corpo velho, e, portanto, da velha ordem, através do
peixe com gosto de sal ( humano), como numa liturgia, num banquete,
que é uma festa popular e coletiva por excelência, comemorando o
ato, o triunfo vitorioso, como diz Bakhtin. O sal, que era a avareza
do velho, representa a abundância. E o esqueleto do velho debaixo
d’água, branquinho, higiênico, isto é, novo, mantém o riso do texto,
que poderia desandar em farsa trágica se não se mantivesse através de
detalhes como esse. A ausência de qualquer julgamento moral dentro
do texto, quer por conta do narrador, quer por conta de Camélia, in-
dicia um novo terreno em que se pisa, pelo menos em literatura - um
terreno em que o estético haverá de ceder lugar ao mimético, o criado
ao imitado. Para isso, livra-se de determinadas estruturas dentro da
própria vida para ter como descrevê -las através da ficção.
Mas que nova ordem e que mudanças históricas são essas,
que um conto como esse e um livro com Ermos e Gerais detectam?
Bernardo Élis em parte já respondeu isso com sua perspectiva de Val-
domiro Silveira. É preciso que não nos esqueçamos das duas outras
estréias quase que concomitantes à de Bernardo Élis - Guimarães Rosa,
com Sagarana e Mário Palmério com Vila dos Confins. Ambas, a de
Guimarães principalmente, vêm com uma novidade definitiva para
dentro da corrente - a esteticização da linguagem trabalhada agora
250
dentro do paradigma da fala sertaneja. Em grau menos acentuado,
essa também é uma novidade em Bernardo Elis.
Tanta estréia com tanta novidade é sinal de novos tempos.
O Brasil ansiava, por esta época, e com a estruturação boa ou má
feita por Getúlio Vargas até então isso já era possível, entrar na via
consumista da sociedade americana. O processo de industrialização
iniciado nas primeiras décadas do século, mais o sistema de organi-
zação do Estado Nacional empreendido por Getúlio, deram ao país o
sonho, até hoje sonhado, de entrar no primeiro mundo dos mundos. A
aquisição tencológica e a perspectiva do consumo material viraram o
horizonte que a política desenvolvimentista de JK viria tentar realizar.
Esse sinal de novos tempos, detectado nas antenas dos intelectuais, é
sinal de novos tempos no sertão. É sinal de que mais uma vez o sertão
mudou ou vai mudar.
Daí, os motivos pouco morais e muito materiais, consumis-
tas até - uma forma de virar pelo avesso - de Camélia para matar o
velho marido, a caducidade social e ideológica de um mundo velho
do sertão. E daí também a frieza com que Camélia corneia (isto é,
rebaixa, destrona), mata e come com o amante o velho - uma frieza
destituída de medo, de piedade, niilista. Até um certo ponto, há, nessa
perspectiva, o famoso otimismo popular em relação à nova ordem aí
representada, tanto da parte da obra como da parte do escritor, corro-
borada muito pela participação do próprio Bernardo Élis na equipe
da revista Oeste, no início dos naos 40.
E é nesse sentido que a paródia do conto de Hugo de Carvalho
Ramos dentro do texto ganha importância. No conto “Pelo Caiapó Ve-
lho”, de Hugo, a morfética que o viajante escoteiro a cavalo encontra
na choça da estrada abandonada, em noite de chuva forte, é estranha
de início e trágica ao final; no conto de Bernardo Elis, ela se multiplica
em três, quer dizer, se produz em série, se transforma em autômatos
que andam na ponta do osso, feito bonecas grotescas, e tomam de
assalto, sem a carência, a afetividade e a emotividade da morfética de
Hugo que resvala para cama do hóspede, o viajante que parou por ali
porque teve o seu caminhão (e não mais o seu cavalo) estragado. As
251
morféticas de Bernardo Elis não são trágicas, mas grotescas e irônicas.
O sertão mudou e têm que ser mudadas as formas com que se fala dele.
No conto “Assassinato por tabela”, já não é mais o destronado,
o corneado, o marido que mata por deveres de honra no sertão, como era
comum nos contos regionalistas - Simões Lopes tem num desses umas
de suas melhores realizações. Quem mata é a mulher, sem defesas de
honra, por pura crueldade do marido. Da honra à vingança fria e cruel e
grotesca, o caminho do sertão sob as razões materiais e não mais morais.
Evidente, o livro todo não mantém esse mesmo tom de moder-
nidade. Contos como o “Diabo Louro” não têm a mesma envergadura
de “A mulher que comeu o amante”. Ao contrário, é patético e resvala
para o sentimentalismo ingênuo e moral, se bem que o que ainda se
salva no texto sejam alguns respingos naturalistas e grotescos na car-
reira de fascínora do Diabo. Idem para o conto “Papai Noel Ladrão.”
Tampouco ao nível narrativo, essa modernidade sempre se
mantém. Alguns contos, como o mesmo “Diabo Louro” e “O Caso
da Orelha de Nonô” ainda não acertam nos pretextos narrativos. O
último, por exemplo, conserva muito da teoria de Poe sobre o conto,
de fazê-lo tender para o final, e inclusive mantém as suas linhas temá-
ticas principais, da voz narrativa contando num tom de confidência,
sem, no entanto, abonar as mesmas sutilezas com que o prório Poe
tece os seus contos.
Mas já há certas novidades nesta linha, e a principal delas
é o conto-crônica, sem estória, um pequeno “sketch” representativo,
tendendo ao lírico ou ao trágico ou mesmo ao grotesco Os antecedentes
dessa forma se situam no passado cronológico literário, é certo, mas
no caso de Bernardo Élis, valem pelo que ele próprio realizou dentro
de sua obra posteriormente. Contos como o do menino afogado, ou o
do Papai Noel ladrão são o exercício de que outros como “Missa de
primeiro ano” serão a aperfeiçoamento maior. Ou o realismo mágico
de “Pai Norato”, a se repetir no de “Noite de São Lourenco”, ambos
perfeitamente realizados no gênero e na forma.
252
Aliás, diga-se de passagem, o próprio Bernardo, em artigo
a respeito do modernismo, declarou que o regionalismo de 30 teria
uma forma mais tradicional e ainda realista-naturalista de narrar, de
montar a sua narrativa. Se em parte isso pode ser verdade, se bem
que isso será verdade sempre, porque sempre haverá quem pratique a
literatura ao modo tradicional, em parte a afirmação não se aplica. O
conto curto, frouxo de estória ou montado no “sketch” é uma fratura
bem moderna do gênero, que Graciliano realizou bem em Infância e
Vidas Secas e que Bernardo Élis realizou perfeitamente, como poucos
em toda a sua obra. Uma forma que teve produtividade inclusive no
romance Fogo Morto de José Lins do Rego, nas suas longas cenas
com o Mestre José Amaro, por exemplo. Há nessa forma uma espécie
de contraparte ficcional do epigrama poético, para cujas funções é
preciso atentar.
Elas soltam, liberam a ficção ao mesmo tempo que a intelec-
tualizam, porque essas cenas, pequenas, acabam por condensadas de
imaginário, resultando em momentos fugazes, poucos, mas plenos de
sentidos, ambíguos porque mantêm um início frouxo e quase nunca
terminam. A reação, quase sempre é a da perplexidade perante o nar-
rado, do que sobra um debordamento, um sentimento de que estamos
perante formas diferentes, novas de ouvir e de contar estórias.
Bernardo Élis é um escirtor que detém essa qualidade de
forma, herdeiro que é, através de Lobato e Hugo de Carvalho Ra-
mos, daquela narrativa que se aperfeiçoou tanto ao início do século
vinte e final do novecentos e que produziu a perfeição de obra que é
a narrativa machadiana.
Assim Bernardo Élis é um escritor cuja obra parece entender
que não adianta mais pisar antigos terrenos, porque, por baixo deles,
não há mais História a segurá-los. Um escritor moderno, que percebe
o seu tempo e busca nele se introduzir.
253
BIBLIOGRAFIA
ÉLIS, Bernardo. Obra Reunida. Rio de Janeiro : José Olympio Edi-
tora, 5 volumes.
BAKHTIN, Mikail. A Cultura Popular na Idade Média e no Renas-
cimento. São Paulo/Brasília : Ed. Hucitec/UNB.
BAUDELAIRE, Charles. Escritos sobre Arte. São Paulo : EDUSP.
KAYSER, Wolfgang. O Grotesco. São Paulo : Ed. Perspectiva. (Col.
Stylus).
Você também pode gostar
- Indianismo e história nas letras imperiais: a narrativa bifronteNo EverandIndianismo e história nas letras imperiais: a narrativa bifronteAinda não há avaliações
- Os Rios Amazonas e Madeira : esboços e relatos de um exploradorNo EverandOs Rios Amazonas e Madeira : esboços e relatos de um exploradorAinda não há avaliações
- Literatura Judaica BrasileiraDocumento5 páginasLiteratura Judaica BrasileiraEva Lana100% (2)
- A Literatura de Sertanejas (Texto Completo)Documento12 páginasA Literatura de Sertanejas (Texto Completo)Valter de OliveiraAinda não há avaliações
- Literatura paulista e o mito bandeirante na obra de Guilherme de AlmeidaDocumento7 páginasLiteratura paulista e o mito bandeirante na obra de Guilherme de AlmeidaRenato OliveiraAinda não há avaliações
- Guia de Ouro Preto e Os Poemas Ouro-Pretanos de BandeiraDocumento23 páginasGuia de Ouro Preto e Os Poemas Ouro-Pretanos de Bandeiraquadros_marianaAinda não há avaliações
- A Formação do Cânone Literário BrasileiroDocumento15 páginasA Formação do Cânone Literário BrasileiroSwellen PereiraAinda não há avaliações
- A Formação do Cânone Literário BrasileiroDocumento15 páginasA Formação do Cânone Literário BrasileirosauloAinda não há avaliações
- Representações do coronelismo na obra de Bernardo ÉlisDocumento20 páginasRepresentações do coronelismo na obra de Bernardo ÉlisJéssica Rodrigues da SilvaAinda não há avaliações
- Narcisa Amalia e As Intemperies Da ProduDocumento18 páginasNarcisa Amalia e As Intemperies Da ProduManoel de CastroAinda não há avaliações
- Os Corumbas Uma AnáliseDocumento20 páginasOs Corumbas Uma Análisehumberto_santana_9Ainda não há avaliações
- De Taunay A NavaDocumento12 páginasDe Taunay A NavaFranklin MoraisAinda não há avaliações
- Artigo Cruz e Souza Regina ZilbermanDocumento17 páginasArtigo Cruz e Souza Regina Zilberman2206198OAinda não há avaliações
- Um poeta nacional: abordagens sobre Gonçalves DiasDocumento10 páginasUm poeta nacional: abordagens sobre Gonçalves DiasLilianBritoAlvesAinda não há avaliações
- Uma literatura escrita para ser oralizadaDocumento35 páginasUma literatura escrita para ser oralizadaMacioniliaAinda não há avaliações
- Artigo Coelho NetoDocumento10 páginasArtigo Coelho NetorenatytaAinda não há avaliações
- História da Literatura Portuguesa: Paradigmas e ImpassesDocumento10 páginasHistória da Literatura Portuguesa: Paradigmas e ImpassesFlávia PessoaAinda não há avaliações
- Dialnet AffonsoAvilaHistoriadorDeMinas 6137300Documento6 páginasDialnet AffonsoAvilaHistoriadorDeMinas 6137300rosanadxAinda não há avaliações
- Samuander,+4.+Historiografia+Literária+Brasileira+Hoje Pereira PDF-ADocumento21 páginasSamuander,+4.+Historiografia+Literária+Brasileira+Hoje Pereira PDF-AKarenAinda não há avaliações
- ELLY HERKENHOFF - A Mais Expressiva Poetisa Teuto-Brasileira de JoinvilleDocumento13 páginasELLY HERKENHOFF - A Mais Expressiva Poetisa Teuto-Brasileira de JoinvillePeter LorenzoAinda não há avaliações
- Instinto NacionalidadeDocumento9 páginasInstinto NacionalidadeEdylene Daniel SeverianoAinda não há avaliações
- Sexteto Pernambucano Eval Do Cabral de MDocumento18 páginasSexteto Pernambucano Eval Do Cabral de MlaurenAinda não há avaliações
- A questão do cânone e a formação do cânone literárioDocumento10 páginasA questão do cânone e a formação do cânone literáriocacacostaAinda não há avaliações
- A literatura hebraica moderna em IsraelDocumento6 páginasA literatura hebraica moderna em IsraelLemuel DinizAinda não há avaliações
- Viagem a Saramago: a formação de uma escritaNo EverandViagem a Saramago: a formação de uma escritaAinda não há avaliações
- Cem anos da Semana de Arte Moderna: O gabinete paulista e a conjuração das vanguardasNo EverandCem anos da Semana de Arte Moderna: O gabinete paulista e a conjuração das vanguardasAinda não há avaliações
- O poeta de um poema e o cânone romântico brasileiroDocumento8 páginasO poeta de um poema e o cânone romântico brasileiroNatalia SantosAinda não há avaliações
- A crônica de Graciliano Ramos: de laboratório literário a instrumento de dissidênciaNo EverandA crônica de Graciliano Ramos: de laboratório literário a instrumento de dissidênciaAinda não há avaliações
- Aquilino Ribeiro, o mestre da literatura portuguesaDocumento10 páginasAquilino Ribeiro, o mestre da literatura portuguesaGustavo S. C. MerisioAinda não há avaliações
- Lourdes Ramalho e Uma Visao Alegorica DaDocumento10 páginasLourdes Ramalho e Uma Visao Alegorica DaLayze MarianaAinda não há avaliações
- Capa da revista Poesia de 1915Documento7 páginasCapa da revista Poesia de 1915Bárbara Leal Dos SantosAinda não há avaliações
- A Fundação da Literatura BrasileiraDocumento10 páginasA Fundação da Literatura BrasileiraElanir França CarvalhoAinda não há avaliações
- 172320-Texto Do Artigo-461504-1-10-20201230Documento28 páginas172320-Texto Do Artigo-461504-1-10-20201230Eduardo da CruzAinda não há avaliações
- História Literatura Brasileira José VeríssimoDocumento196 páginasHistória Literatura Brasileira José VeríssimoendrioAinda não há avaliações
- Artigo Angela 2Documento13 páginasArtigo Angela 2Ferreira MartinsAinda não há avaliações
- Comparação entre os cronistas Manuel Bandeira e Roberto ArltDocumento10 páginasComparação entre os cronistas Manuel Bandeira e Roberto ArltMônica Gomes da SilvaAinda não há avaliações
- A ascensão do romance na literatura brasileiraDocumento4 páginasA ascensão do romance na literatura brasileiraKaizenBRAinda não há avaliações
- REvista HISTORICISMOLTDocumento392 páginasREvista HISTORICISMOLTClecio Bunzen JúniorAinda não há avaliações
- Euclides Da Cunha - Uma Biografia - Luís Cláudio Villafañe G. SantosDocumento630 páginasEuclides Da Cunha - Uma Biografia - Luís Cláudio Villafañe G. SantosGuilherme. MrAinda não há avaliações
- A relação entre Cordel e Contos de FadasDocumento8 páginasA relação entre Cordel e Contos de FadasSo why Geórgia?Ainda não há avaliações
- O Essencial Sobre Eça de Queiros Carlos ReisDocumento3 páginasO Essencial Sobre Eça de Queiros Carlos ReisJu Bonfim100% (1)
- LiteraturaPortuguesaMedieval MarianaIgrejaDocumento13 páginasLiteraturaPortuguesaMedieval MarianaIgrejaJorge Miguel Alves CarvalhoAinda não há avaliações
- A literatura de cordel e seu maior expoenteDocumento252 páginasA literatura de cordel e seu maior expoenteSalomao RovedoAinda não há avaliações
- A gesta épica de Aquilino RibeiroDocumento9 páginasA gesta épica de Aquilino RibeiroLuciana SousaAinda não há avaliações
- 477 C 2 CDocumento228 páginas477 C 2 CFrancisco Marcio SousaAinda não há avaliações
- ST 17 - Aline de Castro e Ana Rita Barbosa TCDocumento14 páginasST 17 - Aline de Castro e Ana Rita Barbosa TCMirianMarquesAinda não há avaliações
- O projeto inacabado de Carolina Michaëlis sobre o Cancioneiro das DonasDocumento15 páginasO projeto inacabado de Carolina Michaëlis sobre o Cancioneiro das DonasRafaella Cristina Alves TeotonioAinda não há avaliações
- Oswald de Andrade - Mediação Cultural, Faits Divers e Literatura Nacional - A TERRA É REDONDADocumento21 páginasOswald de Andrade - Mediação Cultural, Faits Divers e Literatura Nacional - A TERRA É REDONDALuís AndréAinda não há avaliações
- Editorx08, Gerente Da Revista, 4 Eudes MarcielDocumento16 páginasEditorx08, Gerente Da Revista, 4 Eudes MarcielLucas FeitosaAinda não há avaliações
- Alcântara Machado jornalista e escritor modernistaDocumento13 páginasAlcântara Machado jornalista e escritor modernistaMarcela TatajubaAinda não há avaliações
- Resgatando escritoras esquecidas do século XIXDocumento8 páginasResgatando escritoras esquecidas do século XIXinaciodabahiaAinda não há avaliações
- Os Pareceres Do TempoDocumento7 páginasOs Pareceres Do TempoAnneCalanchoeAinda não há avaliações
- Machado de Assis Crítica RomeroDocumento17 páginasMachado de Assis Crítica RomeroHenrique SantosAinda não há avaliações
- Literatura de cordel no litoral sul da BahiaDocumento10 páginasLiteratura de cordel no litoral sul da BahiaIraneidson CostaAinda não há avaliações
- Ensino híbrido na REE-MSDocumento20 páginasEnsino híbrido na REE-MSElismar BrunetAinda não há avaliações
- 17 Sinais de Trânsito Que Todo Mundo Precisa Conhecer PDFDocumento1 página17 Sinais de Trânsito Que Todo Mundo Precisa Conhecer PDFBeatriz Emiliano Limpeza LimpezaAinda não há avaliações
- Edital 2016Documento11 páginasEdital 2016Tito9376Ainda não há avaliações
- CAA Fiscalidade - Aspetos Gerais PDFDocumento56 páginasCAA Fiscalidade - Aspetos Gerais PDFCarolina VilarinhoAinda não há avaliações
- Curva ABC - EngetelesDocumento63 páginasCurva ABC - EngetelesRodrigo AlbertiniAinda não há avaliações
- 2Crônicas: História dos Reis de JudáDocumento4 páginas2Crônicas: História dos Reis de JudáAldivam SilvaAinda não há avaliações
- FICHA CADASTRAL - JamesDocumento9 páginasFICHA CADASTRAL - Jamesfrancisco mateusAinda não há avaliações
- Serasa Web - Limpa Nome - Checkout - Detalhes - Grupo de DívidasDocumento2 páginasSerasa Web - Limpa Nome - Checkout - Detalhes - Grupo de DívidasaroldodiasAinda não há avaliações
- Gazeta de Votorantim Edição 127Documento20 páginasGazeta de Votorantim Edição 127Gazeta de VotorantimAinda não há avaliações
- PowerPoint Aula 3Documento47 páginasPowerPoint Aula 3aline2586Ainda não há avaliações
- Paulo Freire e a Pedagogia pela Justiça SocialDocumento38 páginasPaulo Freire e a Pedagogia pela Justiça SocialendrioAinda não há avaliações
- A CASA SOBRE A ROCHA – UM CASAMENTO QUE RESISTE AO TEMPODocumento5 páginasA CASA SOBRE A ROCHA – UM CASAMENTO QUE RESISTE AO TEMPONildo MarilzaAinda não há avaliações
- Declaração de Tributos sobre InventárioDocumento7 páginasDeclaração de Tributos sobre InventárioHanna Karla100% (1)
- Atividade Historia7ano01Documento1 páginaAtividade Historia7ano01Wesley Werner71% (14)
- 001 O.que - Não.uma - Igreja.multiplicadoraDocumento23 páginas001 O.que - Não.uma - Igreja.multiplicadoraEdmar Mota100% (1)
- Tudo sobre a Conferência COM O ESCRITOR Wayne JacobsenDocumento20 páginasTudo sobre a Conferência COM O ESCRITOR Wayne JacobsenpholiverAinda não há avaliações
- Gestão de Pessoas: Evolução e Visão ContemporâneaDocumento29 páginasGestão de Pessoas: Evolução e Visão ContemporâneaGilson José da SilvaAinda não há avaliações
- WerewolfDocumento334 páginasWerewolfCarlos Andrei FrancaAinda não há avaliações
- VERSÃO - B - Questão Aula - Fernando Pessoa - Poesia Do Ortónimo - 2ºPDocumento4 páginasVERSÃO - B - Questão Aula - Fernando Pessoa - Poesia Do Ortónimo - 2ºPInês MatosAinda não há avaliações
- 520 - Biologia e GeologiaDocumento28 páginas520 - Biologia e GeologiaFernandoRamalhoAinda não há avaliações
- Eletrodos de grafite para goivagem - Maior estoque do BrasilDocumento1 páginaEletrodos de grafite para goivagem - Maior estoque do Brasilnekaun4496Ainda não há avaliações
- 5w2h Comercial FEVEREIRODocumento12 páginas5w2h Comercial FEVEREIROInglês EASY - Boa VistaAinda não há avaliações
- Conexões com o passado na feiraDocumento218 páginasConexões com o passado na feiraMarco Antonio Araujo SantosAinda não há avaliações
- Livro 03 - Corte de Asas e Ruina - Sarah J. MaasDocumento478 páginasLivro 03 - Corte de Asas e Ruina - Sarah J. MaasLorena Santos100% (5)
- A Lição de Anatomia - Enéias TavaresDocumento2 páginasA Lição de Anatomia - Enéias TavaresGefferson Severo da TrindadeAinda não há avaliações
- Educação digital para todosDocumento2 páginasEducação digital para todosLIDIO EDER PEREIRA DA SILVAAinda não há avaliações
- Trotskismos em Cuba (Versão Atualizada)Documento553 páginasTrotskismos em Cuba (Versão Atualizada)Jorge BruntAinda não há avaliações
- FichaDocumento8 páginasFichaspam mailAinda não há avaliações
- Historia OralDocumento11 páginasHistoria OralRenatasoAinda não há avaliações
- Olavo de Carvalho O Futuro Do Pensamento Brasileiro Olavo de CarvalhoDocumento108 páginasOlavo de Carvalho O Futuro Do Pensamento Brasileiro Olavo de CarvalhoegsavioAinda não há avaliações