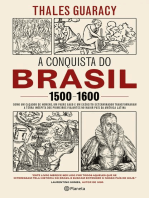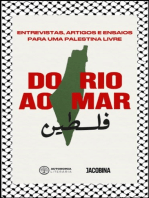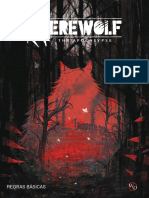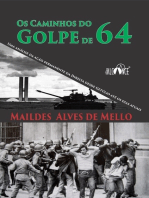Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Questão Palestina
Enviado por
MMEANDREASTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Questão Palestina
Enviado por
MMEANDREASDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O que é a questão palestina
Helena Salem
Civilização Brasileira, 1982
Para Nelson,
Companheiro querido de tanta vida.
Apresentação
Talvez mais do que qualquer outro problema da mesma natureza, o conflito árabe-israelense, e particularmente a
questão palestina, são temas de difícil discussão. Não por serem extremamente complexos, ou por sua imensa gravidade no
cenário internacional, mas pelas emoções que desperta, pelo profundo intrincamento geralmente vivido entre as questões
política e religiosas e/ou emocionais. Via de regra, o problema é colocado nos seguintes termos: “ou comigo, ou contra
mim; ou meu amigo ou meu inimigo”
Com esse pequeno livro, aceitamos alguns desafios. Primeiro, o de separar questões que, apesar da habitual mistura, são
efetivamente distintas. Ou seja, a questão palestina, o conflito árabe-israelense são problemas essencialmente políticos. E
com tal, podem - e devem - ser tratados com “cabeça fria”, em seus vários aspectos, sem a pressão do “bem” e do “mal”.
Isso não significa que não se tenha uma opinião, um posicionamento. Ao contrário, apenas que esse posicionamento possa
ser discutido racionalmente, baseado em dados da realidade, sem maniqueísmo. Parece-me que no momento em que
árabe matam árabes (no Líbano), em que judeus discordam de judeus (em Israel e no resto do mundo, em relação ao
governo Begin), fica mais do que evidente que a questão não é apenas árabe ou judia, muçulmana ou israelita, mas de fato
política.
O segundo desafio que encaramos é o de tentar escrever de uma forma simples, a mais clara possível, sobre um assunto
tão complexo e, em geral, mal conhecido. A questão palestina está de tal forma envolvida por tantos fatores interno e
externos à região que, não raro, o observador comum se perde naquele emaranhado aparentemente incompreensível. Meu
objetivo é justamente contribuir, de alguma maneira, para que esse observador consiga mais facilmente entender os nós da
questão, seus meandros, no contexto local e internacional.
Pessoalmente, não acho que se auxilie em alguma coisa na segurança do Estado de Israel compactuar com o seu
expansionismo e a sua política de negação dos direitos nacionais de um outro povo, os palestinos. O anti-semitismo não
deve ser combatido com uma nova mistificação, mas com a coragem da razão, da justiça. Também não acho que se possa
ser um bom amigo dos palestinos (como aliás de qualquer outro povo) se se perde o espírito crítico, a capacidade de
discutir eventuais defeitos e limitações de sua liderança - no caso a OLP.
Sendo este um livro de introdução, vimo-nos na contingência de apenas suscitar uma série de pontos, sem poder
aprofundá-los. Limitações certamente inevitáveis em um trabalho desta natureza. No entanto, se este pequeno livro servir
para desvendar um pouco mais o emaranhado da questão árabe-israelense, para desbloquear o forte emocionalismo em
relação ao problema, já nos daremos por satisfeitos, pois nosso objetivo foi alcançado.
O sionismo e o aparecimento da questão palestina
Apesar da violência e profundidade que caracterizam hoje o conflito árabe-israelense no Oriente Médio, ele tem raízes
muito recentes, no início deste século. “Primos”, na origem, ambos semitas, os povos árabes e judeu mantiveram ao longo
da história relações de harmonia. Inclusive durante a ocupação árabe na Península Ibérica (711-1492), os judeus
conheceram um período de liberdade e florescimento cultural naquela região. Também as pequenas colônias judaicas
remanescentes no Oriente Médio viviam em absoluta paz com a maioria muçulmana, há menos de um século.
Assim, não há qualquer fundamento nos argumentos que pretendem explicar o conflito violento de hoje entre árabes e
judeus do ponto de vista religioso ou pseudo-racial. Trata-se de uma questão essencialmente política, gerada por fatores
políticos, sociais e econômicos bastante precisos. Mais concretamente, pode-se afirmar que a disputa entre árabes e judeus
começa com o advento do sionismo e a implantação sionista na Palestina.
Em meados do século XIX, a maior parte dos judeus vivia na Europa Oriental, sobretudo Polônia (mais de 1 milhão),
Lituânia, Rússia, Hungria. Tradicionalmente, eram pequenos comerciantes, representantes da economia de mercado no
mundo feudal. Faziam o comércio de longa distância (de produtos de luxo para os nobres e monarcas), eram os
proprietários dos negócios locais, emprestavam a camponeses e senhores feudais em crise, aos reis em sua luta contra os
nobres, enfim, constituíam um verdadeiro “povo-classe”, conforme bem qualificou o historiador belga Abraam Leon.]
Fazendo o comércio e a usura à margem do modo de produção feudal, os judeus viviam portanto “nos poros da
sociedade polonesa” (Marx, A questão judaica) e demais países do leste europeu. Só que, se durante a Idade Média feudal
os judeus puderam desempenhar o papel de “povo-classe” em relativa harmonia com os demais setores da sociedade (na
Polônia, no século XVI, cada cidade-mercado - shtetl - chegou até a possuir um conselho administrativo próprio judaico,
com grande autonomia), no século XIX a situação se transforma sensivelmente. É que, a essa altura, começam a se
desenvolver na Europa Oriental também burguesias nacionais, que vêem no pequeno intermediário judeu um concorrente
indesejável.
O abalo da ordem feudal nesses países, a revolução industrial, com o consequente esvaziamento dos campos, e a
migração de milhares de pessoas para as cidades vão resultar na formação de um grande e miserável exército de reserva de
mão de obra. Desemprego em massa, Desemprego que atingia a todos, mas que as classes dominantes locais tratavam de
atribuir àqueles a quem desejavam destruir, por serem seus concorrentes, ou seja, os judeus. Além de que, evidentemente,
era muito mais conveniente para essas mesmas classe dominante que o povo atribuísse a sua desgraça não a quem tinha o
poder - por exemplo os czares na Rússia, mas a terceiros: os judeus. Assim, não se trataria de lutar contra o injusto e
repressivo regime imperial, mas contra os judeus, que ocupavam os postos de trabalho dos russos...
Por isso mesmo, as autoridades dos Estados do leste europeu, sobretudo da Polônia e Rússia, encarregaram-se de
estimular amplamente o ódio aos judeus (o “homem do dinheiro”, o “usuário”, aquele que, numa situação de crise,
aparecia como o explorador direto). Na Rússia, inclusive, frequentemente as próprias autoridades czaristas chegavam a
organizar os terríveis pogroms (perseguição violenta e matança de judeus). Essa situação de crise e violência leva, então,
milhares de judeus a emigrar, primeiro para a Europa Ocidental, e depois para os Estados Unidos e América Latina
Na Europa ocidental, por sua vez, os judeus eram pouco numerosos (haviam sido banidos de lá, nos éculos XIII, XIV e XV,
com a formação de burguesias locais e a Inquisição) e estavam em pleno processo de assimilação. O capitalismo permitiria a
sua produtivização (deixando de ser um “povo-classe” para se distribuir entre as várias classes da sociedade, de burgueses a
proletários) e a Revolução Francesa abrira as portas para a sua incorporação política e social. No entanto, a chegada de
milhares de imigrantes judeus no século XIX, procedentes do leste europeu, à procura de trabalho em um mercado já
saturado, ofereceria u pretexto para reavivar o anti-semitismo nunca efetivamente superado naqueles países. Em
consequência, o judeu “emancipado”, francês ou inglês, teve sua vida também profundamente abalada.
Foi justamente nesse contexto social, político e econômico que surgiu o movimento sionista (de Sion, uma colina de
Jerusalém), com a proposta da criação de uma pátria para os judeus. Antes, enquanto puderam viver relativamente bem no
mundo feudal, os judeus nunca pensaram em criar um Estado para eles, e suas ligações com a cidade santa de Jerusalém,
na palestina, eram puramente religiosas, de peregrinação aos lugares sagrados.
Muitos foram os pensadores judeus, na segunda metade do século XIX, que começaram a refletir e a propor a formação
de um Estado judeu. Entre eles destacou-se o médico russo de Odessa, Leon Pinsker, que, em 1882, após violentos pogroms
em seu país, escreveu Auto-emancipação: um apelo ao seu povo por um judeu russo. Homem de formação liberal, um
assimilacionista até presenciar ele próprio os pogroms, Pinsker, em sua obra, não chegava a indicar um local para o
estabelecimento do “Lar Nacional” judeu. Apenas apontava a sua necessidade declarando:
“Nossa pátria é a terra alheia; nossa unidade, a diáspora; nossa solidariedade, o ódio e a inimizade universais; nossa
arma, a humildade; nosso poder defensivo, a fuga... Não é a equiparação civil dos judeus num ou noutra país que vai
provocar a necessária mudança, mas, única e exclusivamente, a auto emancipação do povo judeu como nação, a fundação
de uma entidade colonizadora judaica própria, a qual, dia a dia, será transformada em nosso próprio e inalienável Lar
Nacional”
Ou seja, ao crescente nacionalismo europeu que os repudiava, os judeus deveriam responder também com o seu
próprio nacionalismo. Chegamos portanto a uma primeira conclusão da maior importância: embora evoque o passado
remoto, de pelo menos 2 mil anos, o sionismo é um movimento historicamente novo, decorrente da crise do capitalismo no
século XIX na Europa e do fortalecimento dos vários nacionalismos europeus.
Caberia ao jornalista austríaco judeu Theodor Herzi a elaboração de uma proposta mais estruturada para o movimento
sionista nascente. Como Pinsker, também um assimilacionista até presenciar o chamado “Caso Dreyfus”, em 1894 (no qual
um militar francês judeu foi injustamente condenado por espionagem num flagrante gesto de anti-semitismo da justiça
francesa), Herzel publicou em 1896 O Estado Judeu (Der Judenstaat), sugerindo a criação de um Estado nacional judeu na
Palestina, berço do judaísmo. O Estado pensado por Herzl era, evidentemente, um Estado burguês de tipo Europeu.
Inclusive, dizia ele em sua obra: “Para a Europa construiríamos na região uma parte da muralha contra a Ásia, seríamos a
sentinela avançada da civilização contra a barbárie. Permaneceríamos, como Estado neutro, em relação constante com toda
a Europa, que deveria garantir a nossa existência”
E foi com esse atrativo - de se tornar uma “sentinela” contra a “barbárie” - que Herzl partiu em busca de aliados
poderosos para a sua empreitada. Primeiro, o Kaizer alemão Guilherme II, que não se entusiasmou; depois, o sultão turco
Abdul-Hamid, também desinteressado, e, finalmente, com sucesso, a Inglaterra, potência que viabilizaria o seu projeto,
pois, sem o apoio de uma potência colonial, o sonho de se criar uma entidade nacional judaica no Oriente Médio árabe,
naquele momento, seria impraticável.
Portanto, além de estar diretamente vinculado à crise do capitalismo na Europa Oriental no século XIX, de ter sido
elaborado teoricamente pelos judeus da Europa Ocidental (Herzl, um austríaco), o sionismo associa-se também à expansão
colonial europeia do fim do século passado. Afinal, tratava-se de transferir uma população mais desenvolvida, de judeus
europeus, para uma região pobre e pouco desenvolvida, a Palestina árabe, coisa só possível com o apoio de uma grande
potência.
É verdade que o movimento sionista também incorporou em seu interior, ao longo dos anos, importantes correntes
socialistas, que sonhavam edificar uma sociedade igualitária no Oriente Médio. Socialistas, inclusive, que tiveram uma
importante representação, eventualmente mesmo hegemônica, no conjunto do movimento, até aproximadamente a
década de 40. No entanto, nem por isso o projeto sionista desvinculou-se, para sua efetivação, da expansão colonial
europeia, especialmente inglesa.
A Palestina antes do sionismo
Ao se iniciar, na segunda metade do século XIX, a imigração sionista, a Palestina integrava - junto com os atuais Estados
da Síria, Líbano e Jordânia - a região denominada Grande Síria. Era uma zona em sua maior parte semi-árida, de atividade
agrícola precária, tecnicamente atrasada, com nível próximo ao da subsistência e formas feudais de organização social no
campo.
O comércio sempre constituiu a atividade principal da região. Passagem entre as grandes zonas da civilização no mundo
antigo - Europa, África Negra e Ásia - a Grande Síria conheceu, ao longo de sua história, momentos de florescente
prosperidade, baseada no comércio à longa distância, e também de decadência quando esse comércio refluía. Enquanto o
mundo rural conserva-se de certa forma isolado, fechado em si mesmo, sem maior importância econômica, havia uma
considerável unidade no mundo urbano (um comerciante de Damasco tinha negócios igualmente em Beirute e em Haifa.)
Então, quando os primeiros sionistas desembarcaram no Oriente Médio, não havia fronteiras precisas demarcadas na
Palestina, que abrangia uma área aproximada de 20.000 km 2. As fronteiras definitivas seriam estabelecidas apenas entre
1906 e 1922, através de uma série de acordos entre as principais potências.
Àquela altura, o comércio decaíra muito na Palestina, tornando-se essencialmente loca, e a indústria praticamente
inexistia. O país, embora de fato pouco habitado, não era porém despovoado. Lá viviam árabes-palestinos, identificados
com a sua terra natal (na qual haviam se estabelecido há séculos) e entre si. Documentos, como os relatos do humanista
judeu Ahad Haam (pseudônimo de Ascher Ginzberg) na série de artigos “A verdade de Eretz Israel”, escrito em duas viagens
à Palestina em 1891 e 1893, testemunham sobre a situação na área: “Do exterior - dizia Haam - somos inclinados a acreditar
que a Palestina hoje é um país quase completamente vazio; um deserto onde cada um pode comprar tantas terras quanto
desejar. A realidade é bem outra. É difícil encontrar neste país terras aráveis que não sejam cultivadas...”
A implantação sionista
Em 1852, a população de origem judaica na Palestina não ultrapassava a 11800 pessoas. Em 1880, era de 20 mil, em
aproximadamente 500 mil habitantes. As primeiras colônias agrícolas judaicas datam de 1882, após os violentos pogroms a
que já nos referimos, na Rússia czaristas. Essa primeira fase da implantação sionista só foi possível graças ao Barão de
Rothschild, que financiou a aquisição e formação de 19 colônias e uma escola agrícola.
Rothschild, que tinha altos negócios em Paris, Londres e outras capitais européias, como todos os magnatas judeus, não
encarava com bons olhos a chegada de milhares de imigrantes israelitas pobres da Europa Oriental. Aliás, seu envio para
bem longe - Oriente Médio, Estados Unidos, América do Sul, etc. - era sem dúvida oportuno e bem vindo.
Foi em Basiléia, na Suíça, que se reuniu em 1897 o primeiro Congresso Sionista, agrupando 204 membros e fundando a
Organização Sionista Mundial, com o objetivo de impulsionar o “retorno à Palestina”. ^Três anos depois, as “colônias
Rothschild” foram transferi"das para a proteção de um outro barão, Maurice, de Hirch, da Jewish Colonization Association.
Iniciou-se a exploração da mão de obra árabe local (apenas por pouco tempo), diminuindo a imigração de judeus.
A segunda onda de imigração sionista, na maior parte de judeus russos influenciados pelas ideias socialistas (em
expansão na Rússica antes da Revolução de 1905), restabeleceu o princípio do “retorno” (ao antigo “Reino de Israel”, de há
dois mil anos).
Enfim, o processo de colonização sionista tinha uma peculiaridade muito própria, que o diferenciava de outras iniciativas
colonizadoras da época, como a inglesa ou francesa: não pretendia explorar a mão de obra nativa, mas substituí-la na
totalidade pela imigrante. E, para tanto, os judeus iam comprando, pouco a pouco, as terras palestinas de proprietários
turcos (de 1517 a 1917 os otomanos dominaram a região) e sírios, geralmente absentistas (atenção: os proprietários não
viviam em suas terras, mas elas eram ainda assim habitadas por felás, camponeses).
Às vésperas da Primeira Guerra Mundial, a Palestina contava com 44 colônias agrícolas privadas, reunindo
aproximadamente 12 mil pessoas em 44 mil hectares.
A Inglaterra e a questão palestina
Theodor Herzl morreu em 1904, assumindo a direção do movimento sionista o alemão David Wolffsohn. Várias
correntes se digladiavam então no interior do movimento sionista: entre elas, os seguidores fiéis de Herzl, favoráveis a um
Estado judeu na Palestina; a fração radical, representada pela esquerda sionista e o movimentos dos trabalhadores sionistas
(Po’ale Sion); e os “territorialistas”, partidários da aceitação de uma oferta britânica para o estabelecimento de um Estado
judeu em Uganda.
Os “sionistas palestinos” levaram a melhor. A 2 de novembro de 1917, após intenso trabalho desenvolvido por Chaim
Weizmann (que três anos depois assumiria a presidência da Organização Sionista Mundial), o Ministro do Exterior britânico,
James Balfour, endereçou ao milionário Lord Rothschild uma carta afirmando: “O governo de Sua Majestade encara
favoravelmente o estabelecimento de um Lar Nacional para o povo judeu na Palestina e empregará todos os seus esforços
para facilitar a realização desse objetivo, estando claramente entendido que não se fará nada que possa acarretar prejuízos
aos direitos civis e religiosos das comunidades não-judias da Palestina, bem como aos direitos e ao estatuto político de que
os judeus possam gozar em qualquer outro país”.
Essa carta passou à história com o nome de Declaração Balfour, abrindo oficialmente as portas para a implantação
sionista na Palestina. A ressalva britânica para que fossem respeitados os “direitos das comunidades não judias” era,
certamente, muito questionável: como não entrar em choque com elas, ao se pretender criar um Lar Nacional de uma
população estrangeira num território já povoado? Ora, a satisfação dos anseios sionistas (sem querer entrar no seu mérito)
necessariamente haveria de se opor aos interesses dos habitantes árabes locais.
E foi, evidentemente, o que ocorreu. Desde muito cedo, quase simultaneamente à chegada das primeiras levas de
colonos judeus, começaram os primeiros atritos. A Inglaterra, por sua vez, com em tantas outras partes do mundo, haveria
de utilizar a velha tática de “dividir para reinar”. Apoiaria os judeus vendendo-lhes armas, facilitando sua imigração para a
Palestina, e reduziria esse apoio sempre que a crescente tensão entre árabes e sionistas atingisse níveis muito elevados.
Por exemplo, em 1922, pressionada por intensos protestos árabes, Londres divulgou seu primeiro Livro Branco, que
restringia formalmente a imigração judaica, com o objetivo de impedir a formação de uma maioria não árabe na Palestina.
Embora a iniciativa tivesse provocado um pesado mal estar entre os sionistas e ingleses, na prática o Livro Branco não teve
maiores consequências, já que não chegou a ser implantado de fato.
Ao mesmo tempo, apesar da declaração anglo francesa de novembro de 1918, em que os dois países se comprometiam
a promover “a completa e definitiva liberação dos povos há tanto tempo oprimidos pelos turcos”, a Grã Bretanha e a França
foram partilhando a região. Londres obteve os mandatos do Iraque, Palestina e Transjordânia (separada artificialmente da
Palestina em 1920 para contentar o Xerif Abdullah el Hussein, amigo dos ingleses), e a França os mandatos sobre Líbano e
Síria. Em outras palavras, a “balcanização” do Oriente Médio.
Em 1931 a população judaica na Palestina era ainda pequena: apenas 175.000 pessoas, em cerca de 1.036.000. No
entanto, as perseguições do nazi-fascismo na Europa levaram, entre 1932-38, mas de 200 mil novos imigrantes à região.
Neste ínterim, 1936, violentas greves estouraram na Palestina, e a população árabe voltou-se simultaneamente contra os
ingleses e os sionistas.
A essa altura, o Haganah (exército clandestino judeu, criado no início do século com o objetivo de defender as colônias
sionistas) passou a atuar em estreita colaboração com as autoridades coloniais britânicas na repressão aos árabes,
transformando-se no embrião do futuro exército israelense. A situação já era de tal forma tensa que, em 1937, uma
comissão do governo britânico (Peel) preconizou pela primeira vez a partilha da palestina em um Estado judeu e outro
árabe.
Apavorado com o fortalecimento do nacionalismo árabe - que, diga-se, por vezes descambava para o fascismo, apoiando
o Eixo para se opor a Londres -, com as greves e os protestos, a Grã-Bretanha lançou em 1939 o segundo Livro Branco, desta
vez para valer. O documento estabelecia que, entre 1939-44, apenas 75 mil judeus poderiam imigrar para a Palestina e,
após esse período, toda a imigração deveria ser submetida aos árabes.
Lógico que o movimento sionista não respeitou as determinações do Livro Branco. A Europa pegava fogo com a Segunda
Guerra Mundial, perseguindo mortalmente os judeus - quem podia escapava para a América ou Palestina. Assim, entre
1934-44, entraram clandestinamente na Palestina cerca de 150 mil judeus, pelo menos. Afinal, a suposta “consciência”
britânica sobre a discórdia que semeara no Oriente Médio, sem dúvida, aparecia muito tarde, e no momento menos
oportuno possível.
A pressão terrorista
Além da imigração clandestina, um outro fato assinalou essa época: o surgimento de grupos terroristas judeus de
extrema-direita. O primeiro a aparecer foi o Irgun Zvai Leumi (Organização do Exército Nacional), mais conhecido
simplesmente por Irgun, grupo saído do Haganah, em 1938. Fundado pelos estudantes David Rziel e Abraham Stern, da
Universidade Hebraica de Jerusalém, o Irgun especializou-se em jogar bombas nos populosos mercados árabes das
principais cidades da Palestina.
Os ingleses reprimiram o Irgun prendendo seus líderes. O grupo terrorista não fez por menos: passou a atacar também
as autoridades britânicas, matando vários policiais. Com a eclosão da Segunda Guerra, porém, decretou-se uma trégua
formal entre o Irgun e os ingleses, que soltaram os terroristas presos. Abraham Stern não concordou com a trégua:
abandonou a organização junto com a maior parte de seus militantes, fundando uma nova agremiação: os “Lutadores pela
Liberdade de Israel” (Lohmey Heruth Israel - LHEY), comumente conhecida por Stern. Os sternistas eram adeptos do mais
indiscriminado terror, contra árabes e ingleses.
A debandada dos sternistas deixou o Irgun muito mal. Era necessário sangue novo, fascista, terrorista, para poder
rearticulá-lo. Foi com esse “nobre” objetivo que o polonês Menahem Begin (que tempos depois viria a ser Primeiro Ministro
de Israel) chegou a Palestina em 1943. Tido como eficiente organizador e propagandista, ele conseguiu de fato rearticular o
Irgun.
A partir daí, Stern e Irgun vão literalmente “botar pra quebrar”. A tal ponto que, em julho de 1946, o Irgun realizou uma
ação que o imortalizaria na história do terrorismos: a explosão do King David Hotel, em Jerusalém, onde se hospedavam
funcionários do mandato britânico. Segundo o Irgun, o hotel tria recebido uma advertência 25 minutos antes da explosão,
mas não fez caso da ameaça. O fato é que simplesmente 91 pessoas - ingleses, árabe e até judeus - morreram no atentado e
41 ficaram feridas.
E como se comportava a liderança oficial do movimento sionista face ao terrorismo? Através da Agência Judaica (órgão
executivo criado pela Organização Sionista Mundial em 1929) para cooperar com a administração britânica), os dirigentes
judeus reagiram com muita ambiguidade. A agência condenava veemente e formalmente o terrorismo, enquanto o
Haganah (que era dirigido diretamente pela Agência) mantinha ambíguas relações com o Stern e o Irgun, às vezes opondo-
se e às vezes colaborando com os terroristas.
Ou, em outras palavras: da mesma forma como a liderança política sionista se proclamava contra o terrorismo, ela
também se utilizava, em parte, dos atos terroristas praticados pelos grupos de extrema-direita para pressionar
politicamente as autoridades britânicas e mesmo atemorizar os árabes. Desse modo, a Agência Judaica criticava, porém
nada fazia de concreto para impedir a ação dos terroristas, quando não colaborava indiretamente com eles.
O fim da Palestina árabe
Criado o pandemônio na região, a Grã-Bretanha, internamente arrebentada pela Segunda Guerra Mundial, sentia-se
incapaz de manter seu domínio sobre a palestina. Em 1947, anunciou que se retiraria do país a 15 de maio do ano seguinte.
Ou seja, depois de criar, fomentar e se aproveitar de toda a confusão na área, os ingleses simplesmente lavavam as mãos e
entregavam às Nações Unidas o encargo de decidir sobre o futuro daqueles povos.
A 29 de novembro de 1947, sem consultar a população árabe palestina, a ONU votou um plano de partilha da Palestina
em um Estado judeu e outro árabe, com Jerusalém recebendo status internacional. O momento era de especial emoção, já
que o Ocidente respirava culpado a morte de 6 milhões de judeus, assassinados, diga-se de passagem, não pelos palestinos,
mas pelos desenvolvidos e “civilizados” europeus.
Bem Gurion, líder da Agência Judaica, proclamou a 14 de maio de 1948 a fundação do Estado de Israel. Os árabes,
sentindo-se lesados e incitados pelas lideranças feudais, demagógicas, declararam no dia seguinte guerra ao Estado
sionista, embora estivessem totalmente despreparados. Mais uma vez, tentando aproveitar-se do caos para manter a
influência na região, Londres apoiou os árabes no conflito, enquanto a União Soviética, que tanto combatera o sionismo,
solidarizou-se com os judeus, enviando-lhes armas de fabricação tcheca. Na realidade, a preocupação de Moscou era criar
um flanco de oposição aos ingleses.
Mal equipados, destreinados, os exércitos árabes foram fragorosamente derrotados pelos sionistas. E o Estado de Israel,
que pela partilha da ONU deveria ter 14.942 km2 (com 497 mil árabes e 498 mil judeus), aumentou para 20.673 km 2,
ocupando 78% do território palestino (contra 56%, previstos pela ONU). Já o Estado Palestino, programado para ter 11.203
km2 (42% da palestina), com 725 mil árabes e 10 mil judeus, desapareceu do mapa, antes mesmo de se constituir
oficialmente.
Israel anexou 22% a mais do território palestino, a Jordânia se apossou da margem ocidental do Rio Jordão (a
Cisjordânia, com 5.295 km2 ou 20,5% da Palestina), enquanto a Faixa de Gaza (354 km 2 ou 1,5%) passou para a
administração egípcia. Jerusalém (com 105 mil árabes e 100 mil judeus), a cidade santa de católicos, judeus e muçulmanos,
foi dividida entre a Jordânia (setor oriental) e Israel.
O “sonho de Sion” tornou-se, finalmente, realidade. Nesse exato momento começou, também, a diáspora palestina -
mais conhecida como a questão palestina.
Os palestinos, povo errante
Durante muitos anos, as correntes de esquerda favoráveis ao binacionalismo árabe-judeu na Palestina exerceram uma
forte influência no movimento sionista. Elas defendiam a convivência harmônica entre árabes e judeus em um único Estado,
que, para a maioria, deveria ser socialista, embora fossem muitas e variadas as posições.
Arthur Ruppin, por exemplo, criticava “a visão diplomática e imperialista” de Theodor Herzl, afirmando que “o conceito
herzliano de um Estado judeu só era viável porque ele ignorava a presença dos árabes”. Enquanto isso, o sionista trabalhista
Berl Katznelson declarou categoricamente numa conferência do Partido Trabalhista (Mapai) em 1931: não desejo ver o
sionismo se realizar sob a forma de um Estado polonês onde os árabes estariam na posição dos judeus, e os judeus na
posição dos poloneses, o povo dirigente”.
Mas as perseguições anti-semitas na Europa e a aliança de setores nacionalistas reacionários árabes com os alemães
contribuiriam decisivamente para fortalecer a corrente nacionalista judaica exclusivista no sionismo. Assim, durante a
guerra de 1948 os soldados de Bem Gurion, ao se apoderarem de novas parcelas do território palestino, tinham como
objetivo claro o esvaziamento dessas terras de seus habitantes árabes lá estabelecidos, para serem povoadas por judeus.
Aliás, antes mesmo da guerra ser desencadeada, já se efetivavam ações nesse sentido. Foi o caso do massacre na aldeia
de Deir Yassinm a 9 de abril de 1948, em que forças do Irgun e Stern
9grupos que não aceitaram a partilha da ONU de 1947, por serem
contrários à criação de um Estado árabe palestino ao lado do judeu)
invadiram o povoado e mataram cerca de 250 pessoas, todos civis.
Depois, Menahem Begin chamou a imprensa para exibir,
jubilosamente, os corpos das vítimas. A agência judaica condenou o
massacre, mas, mesmo assim, para os palestinos Deir Yassin tornou-
se um símbolo de terror e convite à fuga.
Em 1947, a população árabe na Palestina era estimada em
1.400.000 habitantes, e a de judeus em aproximadamente 600 mil.
Já em 1950, calculava0se em 900 mil o número de refugiados
palestinos, alojados na Cisjordânia, ocupada pela Jordânia, na Faixa
de Gaza, na Síria, Líbano, Egito, Iraque e Países do Golfo. Pelo
menos 250 da 863 aldeias árabes haviam sido destruídas, sua
população expulsa e suas terras apropriadas pelo exército sionista.
À esquerda: a Palestina segundo a partilha da ONU, de 1947,
compreendendo um estado judeu e outro árabe. À direita: as
fronteiras do armistício de 1949 - O Estado árabe palestino
desapareceu, absorvido pela Jordânia e Israel, com a faixa de Gaza
ficando sob administração egípcia.
Mas, por que os palestinos não resistiram? Por que
abandonaram suas terras? Ao que tudo indica, duas foram as razões principais. Primeiro, o pânico da guerra. Os
bombardeiros, os tanques, as ações de intimidação, experiências anteriores como Deir Yassin levavam os camponeses a
frequentemente procurarem a estrada. Em segundo lugar a expulsão pura e simples por parte do Exército sionista que, em
muitas aldeias, chegava destruindo tudo e enxotando a população.
Depois do armistício, em 1949, o retorno foi absolutamente impossível, visto que os sionistas haviam destruído aldeias
inteiras ou bloqueado as estradas para impedir a entrada dos árabes nos povoados. Afinal, para construir um Estado Judeu,
era imprescindível ter, no mínimo, ampla maioria de judeus em suas fronteiras e, consequentemente, o menor número
possível de árabes, do contrário seria inviável.
Um argumento frequentemente levantado considera que os maiores culpados pelo abandono das aldeias árabes foram
os próprios governos árabes que, através de suas rádios, incitaram o povo a fugir. Pode ser até que isso tenha ocorrido,
considerando a natureza desses regimes, embora pesquisas feitas por ingleses, com base em gravações das emissões
radiofônicas da época, neguem que tenha havido esse incitamento. Porém, mesmo que admitindo que de fato ocorreu tal
apelo à fuga, resta sempre uma questão: por que os palestinos não puderam voltar para seus lares? E aí a realidade fala por
si própria: não foi por falta de vontade, mas porque o governo israelense nunca permitiu, apesar de todos os apelos das
Nações Unidas.
Você também pode gostar
- Livro 03 - Corte de Asas e Ruina - Sarah J. MaasDocumento478 páginasLivro 03 - Corte de Asas e Ruina - Sarah J. MaasLorena Santos100% (5)
- Verdade na Prática: Textos Selecionados: Verdade na Prática, #2No EverandVerdade na Prática: Textos Selecionados: Verdade na Prática, #2Nota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Brasil-Afro: História, historiografia, teoria do conhecimento em história. Escritos forjados na negaçãoNo EverandBrasil-Afro: História, historiografia, teoria do conhecimento em história. Escritos forjados na negaçãoAinda não há avaliações
- Intolerância e Resistência - Judeus - Zilda G. IokoiDocumento60 páginasIntolerância e Resistência - Judeus - Zilda G. IokoiFilipe de Freitas LealAinda não há avaliações
- Adolf Hitler - Minha LutaDocumento364 páginasAdolf Hitler - Minha LutaMariana100% (8)
- O Que e Questao Palestina - Helena Salem by Helena SalemDocumento37 páginasO Que e Questao Palestina - Helena Salem by Helena Salemadriana rodrigues miranda del guersoAinda não há avaliações
- Estudo de Caso Rede GiraffasDocumento5 páginasEstudo de Caso Rede GiraffasCOMUNIDADE EVANGÉLICA MINISTÉRIO FONTE DE ÁGUA VIVA100% (1)
- A Questão Judaica - J. CabralDocumento239 páginasA Questão Judaica - J. CabralCcrtcr IhaisuhiAinda não há avaliações
- As Origens Do Totalitarismo de Hannah ARENDTDocumento26 páginasAs Origens Do Totalitarismo de Hannah ARENDTRafael Henrique Censon100% (3)
- O Dossiê RosenthalDocumento84 páginasO Dossiê RosenthalebispoAinda não há avaliações
- Clássicos Saraiva O Noviço RoteiroDocumento46 páginasClássicos Saraiva O Noviço RoteiroMMEANDREASAinda não há avaliações
- Clássicos Saraiva O Noviço RoteiroDocumento46 páginasClássicos Saraiva O Noviço RoteiroMMEANDREASAinda não há avaliações
- A Língua Portuguesa, Pessoa e a PsicanáliseDocumento100 páginasA Língua Portuguesa, Pessoa e a PsicanáliseScheherazade PaesAinda não há avaliações
- 2Crônicas: História dos Reis de JudáDocumento4 páginas2Crônicas: História dos Reis de JudáAldivam SilvaAinda não há avaliações
- 001 O.que - Não.uma - Igreja.multiplicadoraDocumento23 páginas001 O.que - Não.uma - Igreja.multiplicadoraEdmar Mota100% (1)
- Dossiê Vilém Flusser. Revista Cultura JudaicaDocumento68 páginasDossiê Vilém Flusser. Revista Cultura Judaicamey_linfAinda não há avaliações
- Gerenciamento de Aquisições em ProjetosDocumento22 páginasGerenciamento de Aquisições em ProjetosJones carlos Ferreira100% (1)
- A Nova Ordem Mundial-H.G.wellsDocumento151 páginasA Nova Ordem Mundial-H.G.wellsCicero Aparecido da SilvaAinda não há avaliações
- Pernambucanos imortais e mortais: Trinta perfis e outras palavrasNo EverandPernambucanos imortais e mortais: Trinta perfis e outras palavrasAinda não há avaliações
- O Movimento IluministaDocumento2 páginasO Movimento IluministaDiego SouzaAinda não há avaliações
- Do rio ao mar: entrevistas, artigos e ensaios para uma Palestina livreNo EverandDo rio ao mar: entrevistas, artigos e ensaios para uma Palestina livreAinda não há avaliações
- O Espírito Revolucionário Judaico e seu Impacto na HistóriaDocumento179 páginasO Espírito Revolucionário Judaico e seu Impacto na HistóriaEduardo Lima100% (1)
- Manual Prático Do Militar - Digital em PDF - 2 Edição - 2014Documento709 páginasManual Prático Do Militar - Digital em PDF - 2 Edição - 2014Caciano AquinoAinda não há avaliações
- WerewolfDocumento334 páginasWerewolfCarlos Andrei FrancaAinda não há avaliações
- O ICUF como uma rede de intelectuais judeus na América do SulDocumento22 páginasO ICUF como uma rede de intelectuais judeus na América do SulEmil Eskenazy LewingerAinda não há avaliações
- Catalogo Much ADocumento116 páginasCatalogo Much ALarissa Belarmindo100% (1)
- A Esquerda, o Sionismo e A Tragédia Do Povo Palestino - Blog Da BoitempoDocumento10 páginasA Esquerda, o Sionismo e A Tragédia Do Povo Palestino - Blog Da BoitempoLuan CostaAinda não há avaliações
- Pacto Germano SovieticoDocumento21 páginasPacto Germano SovieticoRafael AndradeAinda não há avaliações
- Mitos do povo judeuDocumento10 páginasMitos do povo judeuIolanda MatosAinda não há avaliações
- Uma palavra instável e complexaDocumento6 páginasUma palavra instável e complexaJoão PauloAinda não há avaliações
- Walter White - O Dossiê RosenthalDocumento28 páginasWalter White - O Dossiê RosenthalRAMONLUCAS_Ainda não há avaliações
- Resumo Gladys S Ribeiro O Desejo Da Liberdade e A Participação de Homens Livres Pobres e de Cor Na Independência Do BrasilDocumento2 páginasResumo Gladys S Ribeiro O Desejo Da Liberdade e A Participação de Homens Livres Pobres e de Cor Na Independência Do BrasilThales AraújoAinda não há avaliações
- Sexo Como Arma de ControleDocumento15 páginasSexo Como Arma de Controlecara ovoAinda não há avaliações
- A Questão Regional Francisco de OliveiraDocumento21 páginasA Questão Regional Francisco de OliveiraLeandro Juárez LiberatoriAinda não há avaliações
- Israel - Palestina: Verdades Sobre Um Conflito - Alain GreshDocumento79 páginasIsrael - Palestina: Verdades Sobre Um Conflito - Alain Greshapi-19831293Ainda não há avaliações
- Anderson Deo,+artigo+01+1Documento12 páginasAnderson Deo,+artigo+01+1Rowena Porto Das NevesAinda não há avaliações
- Zizek - Contra Os Direitos HumanosDocumento19 páginasZizek - Contra Os Direitos HumanosRodrigo Sousa FialhoAinda não há avaliações
- Contra o Sionismo: Retrato de uma doutrina colonial e racistaNo EverandContra o Sionismo: Retrato de uma doutrina colonial e racistaAinda não há avaliações
- A Autorrepresentação Do JudeuDocumento14 páginasA Autorrepresentação Do Judeuleonardo coutoAinda não há avaliações
- O anti-semitismo oficial no Brasil pós-guerraDocumento8 páginasO anti-semitismo oficial no Brasil pós-guerraOdones RamosAinda não há avaliações
- Apesar dependente universalDocumento6 páginasApesar dependente universalLeonardo SoaresAinda não há avaliações
- Aula 02Documento34 páginasAula 02Admara TitonelliAinda não há avaliações
- A construção da identidade nacional brasileiraDocumento145 páginasA construção da identidade nacional brasileiraJuvando Carmo de OliveiraAinda não há avaliações
- Retrato do Brasil de Paulo Prado (Marco Aurélio Nogueira)Documento22 páginasRetrato do Brasil de Paulo Prado (Marco Aurélio Nogueira)bconde28Ainda não há avaliações
- Artigo VOX Do Dr. WernerDocumento26 páginasArtigo VOX Do Dr. WernerBasílio HenriqueAinda não há avaliações
- Americanistas e Iberistas: Debate sobre a cultura política no BrasilDocumento7 páginasAmericanistas e Iberistas: Debate sobre a cultura política no BrasilblahblaHHHHH0% (1)
- Campo de Concetracao RsDocumento11 páginasCampo de Concetracao RsGabriela Yuri Araujo OyamaAinda não há avaliações
- Artigo de Gilson Caroni: "Sabra e Chatila: A Linha Do Tempo Da Barbárie" (Versión Orixinal en Portugués)Documento3 páginasArtigo de Gilson Caroni: "Sabra e Chatila: A Linha Do Tempo Da Barbárie" (Versión Orixinal en Portugués)INFOCADERNOSAinda não há avaliações
- Símbolo Perfeito Do Inimigo de ClasseDocumento6 páginasSímbolo Perfeito Do Inimigo de ClasseRenato MacharetAinda não há avaliações
- (POXALULU) Segunda GuerraDocumento19 páginas(POXALULU) Segunda GuerraMikailOpintoAinda não há avaliações
- Osvaldo Coggiola - Islã Histórico e Islamismo Político PDFDocumento40 páginasOsvaldo Coggiola - Islã Histórico e Islamismo Político PDFYan Dago100% (1)
- Cultura Européia - Verena StolckeDocumento21 páginasCultura Européia - Verena StolckeMarina MaryAinda não há avaliações
- O Choque Das CivilizaçõesDocumento14 páginasO Choque Das CivilizaçõesJoao PedroAinda não há avaliações
- A Independência do Brasil e as narrativas de sua elite dominanteDocumento1 páginaA Independência do Brasil e as narrativas de sua elite dominanteEdu1273Ainda não há avaliações
- REBELDES CONTRA HITLER: como jovens alemães, os piratas de Edelweiss, tornaram-se uma resistência antinazistaNo EverandREBELDES CONTRA HITLER: como jovens alemães, os piratas de Edelweiss, tornaram-se uma resistência antinazistaAinda não há avaliações
- O homem e a montanha - Introdução ao estudo das influências da situação geográfica para a formação do espírito mineiroNo EverandO homem e a montanha - Introdução ao estudo das influências da situação geográfica para a formação do espírito mineiroAinda não há avaliações
- A Vitória Do Judaismo Sobre O Germanismo Com ComentáriosNo EverandA Vitória Do Judaismo Sobre O Germanismo Com ComentáriosAinda não há avaliações
- Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana Fora do ArmárioNo EverandDeclaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana Fora do ArmárioAinda não há avaliações
- Artigo e Entrevista para Luís (Multirio)Documento5 páginasArtigo e Entrevista para Luís (Multirio)MMEANDREASAinda não há avaliações
- Adoção no Brasil: perfis buscados e realidade das criançasDocumento1 páginaAdoção no Brasil: perfis buscados e realidade das criançasNicola AlfayaAinda não há avaliações
- PowerPoint Aula 3Documento47 páginasPowerPoint Aula 3aline2586Ainda não há avaliações
- Declaração de Tributos sobre InventárioDocumento7 páginasDeclaração de Tributos sobre InventárioHanna Karla100% (1)
- Fundamentos de Engenharia AmbientalDocumento86 páginasFundamentos de Engenharia AmbientalMarcosAinda não há avaliações
- Brasilia by Night - Basico Do CenarioDocumento7 páginasBrasilia by Night - Basico Do CenarioGabriel GonçalvesAinda não há avaliações
- Inteiroteor 1601841Documento6 páginasInteiroteor 1601841Sophia AyllaAinda não há avaliações
- A Lição de Anatomia - Enéias TavaresDocumento2 páginasA Lição de Anatomia - Enéias TavaresGefferson Severo da TrindadeAinda não há avaliações
- CRIANDO FILHOS SÁBIOS NOS DIAS ATUAISDocumento8 páginasCRIANDO FILHOS SÁBIOS NOS DIAS ATUAISAllan RodriguesAinda não há avaliações
- Procedimentos CEODocumento2 páginasProcedimentos CEOJoao Carvalho Da Cunha FilhoAinda não há avaliações
- Modelo de Estatuto do Conselho EscolarDocumento7 páginasModelo de Estatuto do Conselho EscolarVanessa AlvesAinda não há avaliações
- Conexões com o passado na feiraDocumento218 páginasConexões com o passado na feiraMarco Antonio Araujo SantosAinda não há avaliações
- Simulador Habitacional CAIXA e Crédito Real Fácil CAIXA: Dados IniciaisDocumento3 páginasSimulador Habitacional CAIXA e Crédito Real Fácil CAIXA: Dados IniciaisTaís OliveiraAinda não há avaliações
- Gestão de Pessoas: Evolução e Visão ContemporâneaDocumento29 páginasGestão de Pessoas: Evolução e Visão ContemporâneaGilson José da SilvaAinda não há avaliações
- MATERIAL - COMPLEMENTAR - QuestoesCOMENTADAS 6ed Orcamento AFODocumento25 páginasMATERIAL - COMPLEMENTAR - QuestoesCOMENTADAS 6ed Orcamento AFOEdleuza Oliveira da HoraAinda não há avaliações
- Monetizze - o Que É - Como Funciona e Como Ganhar DinheiroDocumento5 páginasMonetizze - o Que É - Como Funciona e Como Ganhar DinheiroClaudio Gomes Silva LeiteAinda não há avaliações
- Serasa Web - Limpa Nome - Checkout - Detalhes - Grupo de DívidasDocumento2 páginasSerasa Web - Limpa Nome - Checkout - Detalhes - Grupo de DívidasaroldodiasAinda não há avaliações
- Legião de MariaDocumento3 páginasLegião de MariaAndré Luciano ClaretAinda não há avaliações
- Edital 2016Documento11 páginasEdital 2016Tito9376Ainda não há avaliações
- Passo A Passo - Um Guia Espiritual para A Realização de Seu ObjetivoDocumento110 páginasPasso A Passo - Um Guia Espiritual para A Realização de Seu ObjetivoHector RochaAinda não há avaliações
- Formulário de solicitação de acesso para microgeração distribuída acima de 10kWDocumento5 páginasFormulário de solicitação de acesso para microgeração distribuída acima de 10kWJuarez FaustinoAinda não há avaliações
- Press Release Do Resultado Da Lojas Americanas Do 2t21Documento33 páginasPress Release Do Resultado Da Lojas Americanas Do 2t21Matheus RodriguesAinda não há avaliações