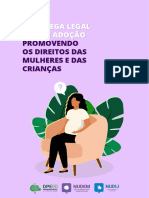Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Intervenção de Terceiros, William Couto Gonçalves
Intervenção de Terceiros, William Couto Gonçalves
Enviado por
gabriel_gonzales_20Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Intervenção de Terceiros, William Couto Gonçalves
Intervenção de Terceiros, William Couto Gonçalves
Enviado por
gabriel_gonzales_20Direitos autorais:
Formatos disponíveis
INTERVENO DE TERCEIROS William Couto Gonalves *** WILLIAM COUTO GONALVES juiz de Direito de Entrncia Especial Professor de Direito
Romano e Direito Processual Civil Diretor da Escola da Magistratura do Estado do Esprito Santo DEL REY EDITORA Belo Horizonte - 1997 Inclui bibliografia Biblioteca da Faculdade de Direito da UFMG Editor Arnaldo Oliveira Conselho Editorial Prof. Antnio Augusto Junho Anastasia Prof. Anosvaldo de Campos Pires Prof. Aroldo Plnio Gonalves Dr. Edelberto Augusto Gomes Lima Prof. Hermes Vilchez Guerrero Prof. Jair Eduardo Santana Dr. Jos Edgard Penna Amorim Pereira Prof. Misabel Abreu Machado Derzi Prof. Paido Emilio Ribeiro de Vilhena Des. Srgio Lellis Santiago Produo Editorial Alexandre Cardoso Copyright 1996 by LIVRARIA DEL REY EDITORA LTDA A Deus, que preservou a minha vida na pungente enfermidade, o meu louvor. "Eis que para minha paz, eu estive em grande amargura; tu porm to amorosamente abraaste a minha alma" (BBLIA sagrada. Isaas 38:17). Aos meus pais, Felisberto e Damaris. minha esposa Cassia, e aos meus filhos Tiago, rico e Marcel, o meu reconhecimento. "Um ao outro ajudou e disse: Esfora-te" (BBLIA sagrada. Isaas 41:6). Aos meus distintos mestres, Leonardo Greco Celso D. de Albuquerque Mello Paulo Condorcet Francisco Mauro Dias talo Jia
Vicente de Paulo Barreto, Maria Stella de Amorim e Zoraide Arnaral de Souza, a minha melhor homenagem. "A pesquisa tem uma seduo interminvel; escrever trabalho pesado. preciso sentar-se numa cadeira, pensar e transformar o pensamento em frases legveis, atraentes, interessantes, que tenham sentido e que faam o leitor prosseguir. trabalhoso, lento, por vezes penoso, por vezes uma agonia. Significa reorganizar, rever, acrescentar, cortar, reescrever. Mas provoca uma animao, quase um xtase E...]. Em suma, um ato de criao" (TUCHMAN, Barbara W. A prtica da histria, p. 13). Prefcio Em gesto de extrema gentileza, o Dr. Wiliiam Couto Gonalves convidou-me para prefaciar o seu livro de estria - Interveno de Terceiros. Dispensvel, no entanto, e sob todos os aspectos, esse mister, a comear pelo prestgio da editora que o patrocina. A Del Rey no obstante sua juventude, vem se notabilizando nos meios jurdicos e editoriais por adotar uma linha de produo das mais elogiveis, aliando o incentivo s novas e autnticas vocaes doutrinrias ao rigor na seleo das obras e autores que edita. Da o vertiginoso sucesso que vem alcanando em seu campo de atuao, com um sem-nmero de ttulos, novos e promissores autores, ao lado de consagrados nomes da literatura jurdica nacional e o esmero tcnico do seu produto, que apresenta sensvel evoluo a cada nova safra de livros publicados. , sem dvida, a editora que mais tem crescido no Brasil nos ltimos tempos, estando agora a lanar-se em horizontes internacionais. Pois essa editora - que inclusive tem no seu autorizado Conselho o Prof. Aroldo Plnio Gonalves, exmio processualista e um dos mais respeitados especialistas na matria - que presenteia o seu pblicoleitor (p. 9) com o estudo que ora se publica, de indiscutvel qualidade e muito proveito. O tema da interveno de terceiros, como se sabe, dos mais difceis da cincia processual, pelas suas mltiplas modalidades e pela complexidade de questes que enseja. Destas e daquelas, entretanto, com
cincia e objetividade cuida o Autor, situando o tema e seus subtemas sob a perspectiva da teoria geral do direito, da principiologia e do direito comparado, antes da anlise pormenorizada das "formas intervencionais" nominadas e no-nominadas do instituto. livro para os operadores do direito, que nele encontraro segura orientao profissional. Mas igualmente fonte de enriquecimento cultural para quantos mais mourejam na seara jurdica, quer na docncia, na pesquisa ou nos bancos universitrios. , em suma, estudo que se recomenda com entusiasmo: pela relevncia da temtica enfrentada, pelas proposies desenvolvidas e pelo tratamento cientfico que lhe deu seu ilustre Autor, uma das nossas mais representativas vocaes para o magistrio. O Prof. William Couto Gonalves, fluminense de nascimento e cidado capixaba por adoo, alm de magistrado exemplar, unanimemente estimado por seus Pares e admirado pela sociedade em que vive, elegante nos gestos, no convvio e na postura humana, homem de leituras e reflexes, dirige com zelo e eficincia insuperveis a Escola da Magistratura do Esprito Santo, que se situa entre as melhores do Pas. Este o livro que tenho a honra de apresentar, embora de apresentao no carea, tantas as suas virtudes, de forma e contedo. Min. Slvio de Figueiredo Teixeira (p. 10) Sumrio Parte Geral GENERALIDADES DA INTERVENO DE TERCEIROS Introduo - 21 Captulo 1 - INTERVENO - ETIMOLOGIA - DENOMINAES RELAO COM OUTROS INSTiTUTOS DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL - 25 1 - Etimologia - 25 2 - Denominaes em nvel de direito comparado - 26 2.1 - Direito romano - 36 2.2 - Direito alemo - 42 2.3 - Direito italiano - 44 3 - Interveno de terceiros, os princpios processuais e as condies da ao - 47 4 - Interveno e o princpio dispositivo - 48 5 - Interveno e o princpio da audincia da parte contrria - 52 6 - Interveno e o princpio da igualdade - 53 6.1 - Princpios que regem o procedimento - 53 (p. 11)
6.2 - O princpio da imediao - 53 7 - Interveno e outros princpios - 54 7.1 - O princpio da oralidade e da escritura - 54 7.2 - O princpio da publicidade - 55 7.3 - O princpio do sigilo - 55 7.4 - O princpio da concentrao - 55 7.5 - O princpio da eventualidade - 56 7.6 - O princpio da aquisio - 56 7.7 - O princpio da economia processual - 57 8 - Pressupostos de existncia do processo originrio - 58 9 - Pressupostos de existncia do processo superveniente 59 10 - Parte e terceiro a um s tempo - Excepcionalidade - 61 11 - A interveno e as condies para o desenvolvimento vlido e regular do processo superveniente - 65 12 - A interveno noutros ramos do direito - 66 13 - Dos elementos justificadores da interveno - 67 14 - Quanto nomeao do interveniente - 68 15 - Da quadripartio da interveno - 68 Captulo II - CATEGORIAS DAS FIGURAS INTERVENCIONAIS NONOMINADAS - 71 1 - Quanto assistncia - 71 2 - Quanto ao recurso de terceiro interessado - 75 3 - Quanto parte que outra substitui - 76 4 - Quanto aos embargos de terceiro - 77 5 - Quanto ao concurso de credores - 80 6 - Quanto ao litisconsrcio - 82 Captulo III - PARTE - 83 1 - Compreenso do tema - 83 2 - Aspecto histrico - 83 3 - O conceito de parte do Autor - 103 3.1 - Explicitao do conceito - 104 3.2 - Como se perfaz o status de parte - 112 4 - Quanto ao momento de identificao das partes legtimas e interessadas - 119 5 - Sujeitos da lide e do processo - 119 6 - Das obrigaes das partes - 121 7 - Parte demandada e terceiro - Medida de sujeio ou subordinao - Medida de vinculao - 124 Captulo IV - TERCEIRO - 133 1 - Conceituao - 133 2 - Teses - 134 3 - Relao de antecedente e conseqente dos atos processuais e terceiros nominados - 135 4 - A interveno e o processo cientfico - 138 5 - Relao de antecedente e conseqente da sentena, seus efeitos, qualidades e terceiros - 141
Parte Especial FIGURAS INTERVENCIONAIS NOMINADAS NO CDIGO DE PROCESSO CIVIL Introduo - 149 Captulo I - OPOSIO - 151 1 - Conceito - 152 2 - Histrico - 152 (p. 12) 3 - Ao de oposio - 157 4 - Opostos da oposio - 159 5 - Oposio e os Cdigos estaduais - 162 5.1 - OCdigo de 39 - 164 5.2 - OCdigo de73 - 165 6 - Oposio e excluso das pretenses das partes opostas 167 7 - Pressupostos de admissibilidade da oposio - 168 8 - Oportunidade da oposio - 170 9 - Conseqncias prticas da oposio - 173 10 - Efeitos da oposio - 175 11 - Princpios gerais e especiais da oposio - 176 12 - Facultatividade da oposio - 179 13 - Juzo competente da oposio - 180 14 - A modificao da competncia e a oposio - 181 15 - Interesse, legitimidade e possibilidade jurdica do pedido - 181 16 - Ausncia das condies da ao - Indeferimento liminar - 181 17 - O pedido e suas conseqncias - 183 17.1 - Citao, reconhecimento do pedido e desistncia - 183 17.1.1 - O pedido - 183 17.1.2 - A citao - 183 17.1.3 - Reconhecimento do pedido e desistncia - 184 18 - Natureza da ao de oposio - 188 19 - Possibilidade da oposio sucessiva - Ordem dos trabalhos na conduo do processo - 189 20 - Recursos cabveis - 190 21 - Procedimentos - 191 22 - Oposio e embargos de terceiro - 193 23 - Embargos execuo e oposio - 194 24 - Oposio e desapropriao - 194 25 - Assistncia na oposio - 196 26 - Ao rescisria e oposio - 196 27 - A oposio no direito portugus - 197 28 - Oposio provocada - 200 29 - A oposio no direito italiano, comparada com o sistema brasileiro - 204 30 - Sinptica noo da oposio entre os alemes - 207 31 - Oposio, denunciao e assistncia - Concorrncia de
aes - 208 Captulo II - DENUNCIAO DA LIDE - 211 1 - Introduo - 214 2 - Denunciao - Conceito - 214 3 - Histrico - 214 3.1 - A denunciao no antigo direito romano - 214 3.2 - A denunciao no direito germano-barbrico - 215 3.3 - Pontos comuns e dissmeis do instituto nos dois povos - 216 3.4 - A denunciao no Cdigo do Estado da Cidade do Vaticano - 216 3.5 - A denunciao no direito italiano - 217 3.6 - A denunciao do direito alemo - 221 3.7 - A denunciao no direito portugus - 232 3.8 - A denunciao da lide entre ns - 234 3.8.1 - Natureza da nossa denunciao - 239 3.8.2 - Elementos figurantes da denunciao conforme o Cdigo de 73 - 239 4 - Modalidade - 244 5 - Denunciao e ao - 244 6 - Denunciao e condies da ao - 244 7 - Denunciao e competncia do juzo - 245 8 - Denunciao e aspectos formais do pedido - 246 9 - Obrigatoriedade da denunciao - Garantia prpria e imprpria - 247 (p. 13) 10 - Distino da denunciao e nomeao autoria - 252 11 - Momento processual da denunciao e legitimao ativa - 252 12 - A denunciao e a extenso da relao subjetiva no plano,horizontal e no plano vertical - 253 13 - Juzo de admissibilidade - 253 14 - Procedimentos - 254 15 - Suspenso do processo e citao - 255 16 - Momento da suspenso - 256 17 - Contestao - 258 18 - Denunciao sucessiva - 259 19 - Denunciao per saltum - Por vontade prpria - 261 20 - Denunciao per saltum - Com supresso da vontade prpria - 261 21 - Denunciao pelo autor - 262 22 - Denunciao pelo ru - 263 23 - Sentena na hiptese de denunciao - 267 24 - Recurso - 269 25 - Denunciao da lide, assistncia e nomeao autoria - 269 Captulo III - CHAMAMENTO AO PROCESSO - 271 1 - O chamamento e a garantia simples - 272
2 - Chamamento ao processo e precedentes - 273 3 - Caractersticas - 273 4 - Objetivo - 275 5 - Momento processual do chamamento - 279 6 - Requisitos formais - 279 7 - Inconveniente psicossocial do chamamento - 279 8 - Citao - 280 9 - Natureza da sentena - 280 10 - Recursos - 280 11 - Prazo para contestar - 281 Captulo IV - NOMEAO AUTORIA - 283 1 - Histrico - 284 1.1 - A nomeao no direito romano - 284 1.2 - A nomeao nas Ordenaes de Portugal - 286 1.3 - A nomeao entre ns e a doutrina portuguesa - 287 2 - O possuidor e o Cdigo Civil - 291 3 - O detentor e o Cdigo Civil - 293 3.1 - Impossibilidade de nomeao pelo detentor ou possuidor - 296 4 - Pressupostos da nomeao - 296 5 - Abrangncia da nomeao - 296 6 - Obrigatoriedade da nomeao - 297 7 - A nomeao e o princpio da lealdade - 298 8 - Formalidades no requerimento da nomeao - 298 9 - Nomeao e o plo passivo da relao processual - 299 10 - Nomeao - Dplice aceitao - No-aceitao - Conseqncias da nomeao e da no-nomeao - 299 11 - Ao em face do nomeante e do nomeado - 302 12 - Alcance subjetivo da sentena em caso de no-aceitao da nomeao pelo nomeado - 303 13 - Momento processual - 304 14 - Prazo para contestar em caso de recusa da nomeao 306 15 - Recurso do despacho que indefere a nomeao - 306 16 - Estromissione do nomeante - 306 17 - Assistncia ao demandado nomeante e no-nomeante - 307 Bibliografia - 309 (p. 14) (p. 15, em branco) Parte Geral (p. 16) (pags. 17 a 20, em branco) GENERALIDADES DA INTERVENO DE TERCEIROS Introduo
Tema complexo do Direito Processual Civil. Sua complexidade sobressai por qualquer ngulo que se queira v-la, seja do ontolgico, do teleolgico ou do pragmtico, exsurgindo, de cada qual, variveis exigentes de anlises mais acuradas que at aqui no foram enfrentadas. Diz-se complexidade ontolgica em razo do quanto se pode questionar sobre a mensurao do ser de cada figura intervencional, ou seja, o que , efetivamente, cada uma delas; diz-se complexidade teleolgica na medida em que se busca conhecer os fins para os quais foram concebidas e quais as suas implicaes com tantos outros compartimentos do Direito Processual Civil que so tidos como de construes estanques, por isso no suscetveis de modificaes; a complexidade pragmtica resultante das limitaes impostas ao conhecimento do que e do para que a interveno, com reflexos inevitveis nas atividades desenvolvidas pelos especialistas que atuam no campo de fora{*} da cincia jurdica - a jurisdio que se faz no processo. * No exerccio da jurisdio sobressai a fora inerente do direito que o distingue da moral. (p. 21) Segue-se, pelo que se v, quanto ao tema, a trilha de uma "historicizao" e de uma empiria omissas, por um lado, e excessivamente leais quanto a certos e determinados dados, por outro. Alis, como si acontecer com muitos tpicos e institutos relevantes do Direito Processual Civil, mantendo-se o nosso doutrinador fiel aos legados italianos, alemes, franceses, espanhis, lusitanos e outros, sem estimular uma reflexo mais autntica, originria, sobretudo menos obscura e mais til, extrada da nossa prpria realidade, sem menoscabar, certo, a inquestionvel medida de importncia do estudo e aplicao do Direito Comparado, este com origem em Licurgo, de Esparta; Slon, de Atenas; nos desenvires, de Roma; em Aristteles; at que em 1831, na Frana, criou-se uma cadeira que foi denominada "Histria Geral e Filosofia das Legislaes Comparadas", cujo primeiro titular foi o Professor Lerminier, sucedido por Laboulaye, fundador da Sociedade de Legislao Comparada, que, ao proferir aula inaugural em 1869, declarou a importncia e a "necessidade de se conhecer a legislao e a maneira de viver de seus vizinhos". Posicionamentos doutrinnios sobre elementos que mais sobressaem no estudo do tema esto definitivamente
assentados, no obstante grande parte deles versarem sobre questes axiomticas; outros, na sua maior poro, esto acomodados no campo da axiologia e da dialtica, na expectao de que as minudncias suas envolventes sejam mais bem compreendidas, explicadas e, naquilo que se fizer exigvel, sofram modificaes estruturais, tanto de constituio - aspecto interno ou endgeno -, como de aplicao e utilidade - aspectos externo ou exgeno e pragmtico, desde que colocadas com (p. 22) racionalidade, cientificidade, e sem perder de vista o carter historicista que as fez situadas em dado momento do nosso ordenamento jurdico. H, entre ns, obras e artigos vrios de emritos doutrinadores, desde os praxistas aos agorais cientficos, que, com especificidade ou em meio a generalidade dos comentrios do processo civil, abordaram a temtica com incurses valiosssimas. O que se busca com este trabalho , atravs de mtodo de anlise, chegar ao conhecimento racionalobjetivo do que seja interveno de terceiros, o que significam as diversas modalidades intervencionais admitidas em nosso ordenamento jurdico, especificamente aquelas denominadas figuras nominadas, distinguindo-as das no-nominadas, com as suas origens, os seus verdadeiros fins e as suas implicaes com outros compartimentos do Direito Processual Civil. S com tais conhecimentos que ser possvel a apropriao do tema. (p. 23) (p. 24, em branco) Captulo I - INTERVENO - ETIMOLOGIA - DENOMINAES RELAO COM OUTROS INSTITUTOS DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 1 - ETIMOLOGIA A utilidade do exame da pluralidade de significados de um termo no s convm maior clareza do que com ele se afirma, mas, tambm, certeza de que os fatos por ele afirmados so, sim, seus correlatos.{1} Etimologicamente, o termo interveno tanto pode provir de intus venire como de inter venire. Intus venire diz do que chega dentro, no interior. Inter venire significa chegar-se no meio de, chegar-se durante ou, ainda, chegar-se entre. Convm-nos a segunda etimologia, visto o momento processual em que se d a interveno. Da noo etimolgica transparece, ento, a
ocorrncia de algo que se d no curso ou durante o desenvolver de certa situao, no caso o processo preexistente ou em andamento. A propsito, outra no a linha de pensamento de Piero Calamandrei a respeito: "A palavra interveno, com que se indica este fenmeno, expressa etimologicamente (inter = durante) a supervenincia de outras partes durante um processo j iniciado sem elas."{2} 1. ARISTTELES. Tpicos, p. 26. 2. CALAMANDREI, Piero. Derecho procesal civil segun el nuevo Cdigo, v. 2, p. 314. (p. 25) 2 - DENOMINAES EM NVEL DE DIREITO COMPARADO Trs so as denominaes dadas interveno: a) coacta ou forada; b) provocada; e c) voluntria ou espontnea. As duas primeiras acontecem quando o terceiro, com interesse jurdico e legitimao para a causa e para o processo, em razo da identidade de causas em cmulo ou identidade por sucessividade, chamado a integrar um dos plos da relao processual por uma das partes nele figurantes. A terceira ocorre sem qualquer chamamento; ato de volio do terceiro, movido exclusivamente pelo interesse jurdico fundado em ttico direito substancial. Diverge a doutrina, especialmente em nvel de direito comparado, sobre o acerto ou no das duas primeiras denominaes - coacta ou forada e provocada. Diz-se, a princpio, que no processualmente admissvel que o terceiro seja coagido ou forado a intervir no processo em andamento, nem tampouco que a parte existente seja forada ou coagda a provocar a interveno; mais correto seria, ento, usar, to e s, a denominao provocada, vez que o terceiro intervm mediante estmulo da parte que o chama para que se faa presente no processo, sendo-lhe facultado atender ou no provocao que se lhe faz. Mas no assim que se aclara a divergncia. A rigor, no se pode tomar a questo no plano exclusivamente literal, com problematizao etimolgica, construindo uma noo semntica de coao ou fora e provocao. A parte a literalidade, s se compreende o sentido e o alcance das denominaes desde que se veja a interveno por seu plano conseqencial, ou seja, com vistas nos seus efeitos decorrentes, na maior ou menor parti- (p. 26) cipao do chamado no processo, no plano das expectativas,
liberaes e possibilidades processuais, e quais as conseqncias dessa participao, como, por exemplo, se fica este sujeito aos efeitos da coisa julgada ou o que mais lhe toca em razo dessa participao. S por esse ngulo melhor transparece a diferenciao da medida de sujeio ou subordinao do demandado em face do seu demandante e a medida de sujeio ou subordinao do terceiro que intervm em face daquele em razo de quem a interveno se faz. Imprescinde se tenha em conta a carga processual que toca a cada um, no se diga obrigao processual. Com o conhecimento da distino existente entre a medida de sujeio ou subordinao da parte demandada na ao originria e a do interveniente no-voluntrio, ou espontneo, temse a compreenso da razo das denominaes. preciso distinguir carga de obrigao processual. Obrigao compreende o dever de verdade e o dever de no praticar atos que retardem intencionada ou negligentemente a marcha do processo. Cargas processuais se identificam com as possibilidades processuais e fazem parte do elenco dos direitos processuais a par das expectativas e das liberaes, mas dizem respeito possibilidade e necessariedade de intervir, em razo da questo de direito material posta em discusso. Impe-se saber se a carga processual que autoriza a interveno equipara-se carga que recai sobre o demandado na ao originria e se nas diversas modalidades de interveno a carga a mesma. Assim, estarse- conhecendo qual a medida de sujeio existente da parte daquele que intervm em face daquele que toma a iniciativa para sua interveno; e qual a medida de sujeio do demandado em face do seu demandante. (p. 27) Tome-se por caso espcie de litisdenunciao no direito italiano que, no sendo exerccio de pretenso, gera, para o litisdenunciado, efeitos distintos dos que so gerados para o terceiro chamado causa. H nesse caso uma relativa sujeio do terceiro. A chamada ao terceiro e nem toda litisdenunciao so de contedos e conseqnciaS iguais. medida que se faz reduzida a sujeio ou subordinao do interveniente, tem-se reduzida a sua carga e a sua possibilidade processual. Essa interveno , pois, provocada. medida que a sujeio ou subordinao do interveniente chamado equipara-se do demandado originrio, com cargas e possibilidades processuais iguais, a interveno forada ou coacta.{3} Conforme a melhor lio de Tomas Lopez
Fragoso Alvarez, para Chiovenda, por exemplo, no se compara a chamada ao terceiro com a chamada que se faz ao demandado na ao originria. No caso da chamada ao demandado, para o autor italiano, exsurgem particularidades decorrentes do exerccio do direito de ao, que, para o mesmo autor, no existem quando se chama um terceiro. Diz ele, ento, que existem efeitos dissmeis da chamada que se faz ao demandado na ao-base e da chamada que se faz ao terceiro para que nela intervenha. Para os crticos de Chiovenda, dentre eles Sergio Costa, aquele no distingue a simples denunciao, fundada em carga processual, que mera notcia do pleito para prevenir-se diante de possveis opositores de ps-sentena, bem assim diante daquele que em novo processo pode alegar exceo de m defesa; da 3. ALVAREZ, Lopez-Fragoso Tomas. La intervencin de terceros instncia de parte en el proceso civil espaol. Madrid: Marcial Pons, 1990, p. 21 et seq. (p. 28) chamada ao terceiro como exerccio do direito de pretenso, fundada em relao da ordem do direito material. Disso resulta a sua posio de que "chamada em causa" e exerccio de direito de pretenso so figuras distintas. Efetivamente que a simples litisdenunciao difere das demais modalidades de chamamento a terceiro. Aquela, certo, no equivale a exerccio do direito de pretenso, estas, porm, sim. Chiovenda iguala as diversas modalidades de litisdenunciao afirmando-as oriundas da adicitatio. Assim que ensina: "Ciascuna delle parti pu chiamare in causa un terzo cui creda comune la controversia (Cod. Proc. Civ., art. 298). Questo cosi detto intervento coatto, derivato dalla antica adcitatio, ha questa affinit collintervento adesivo, che mentre il chiamato in causa non diviene poer ci solo parte, tuttavia egli soggetto alla decisione, in quanto che egli non potr negare la cosa giudicata se lo avrebbe potuto qualora non fosse stato chiamato in causa. Una forma speciale di adcitatio la litis denuntiatio, che ha luogo quando una parte denuncia la lite (chiamata in causa) ad un terzo, verso il quale ha unazione di regresso in caso de soccombenza, e ci allo scopo di estendere a lui gli effetti del processo: in mancanza, lazione di regresso non pitr fondarsi sulla cosa giudicata (Cod. Civ., art. 1497). Noi non solo abbiamo ammesso questa litis denuntiatio, ma abbiamo acolto listituto della
chiamata in garantia (Cod. Proc. Civ., articoio 193 e segg.); non solo chiamato in causa il terzo, ma contro lui si propone contemporaneamente lazione di regresso. E questo in caso di pluralit (p. 29) di cause unite: il chiamato in garantia parte nella causa di regresso (1); non solo, ma in alcuni casi egli pu assumere la causa del convenuto succedendogli nella qualit di parte principale (art. 198). Innanzi 90." "Unaltra forma di littis denuntiatio la laudatio auctoris; il possessore immediato, convenuto per la consegna della cosa, denunciando la lite al possessore mediato, o anche solo indicandone Il nome, pu chiedere desser posto fuori causa (cf il caso del conduttore, Cod. Civ., art. 1582){4}." Para Carnelutti, a interveno, que resulta da chamada ao terceiro em razo de ocorrncia de conexo, provoca a extenso objetiva e subjetiva do processo em andamento, e nisso h deduo de pretenso nova.{5} A chamada ao terceiro , ento, no pensamento carneluttiano, por sua natureza, equiparada chamada ao demandado, por isso equivale ao exerccio do direito de pretenso sujeitando o terceiro aos efeitos da coisa julgada. De outro lado, a simples notificao que se faz a um terceiro da existncia de dado processo no produz esses efeitos prprios da chamada, no constituindo, ento, essa litisdenunciao, exerccio de pretenso. 4. CHIOVENDA, Giuseppe. Principii di diritto processuale civile (opera premiata dallacademia dei lincei per le scienze giuriche, ristampa inalterata con prefazione del Prof. Virgilio Andrioli). Napoli: Dott, Eugenio Jovene, 1965, p. 603-604. 5. CARNELUTTI, Francesco. Chamata nel processo del terzo obligato. Rivista di Diritto e Procedura Civile, p. 478, 1960; e Sistema de derecho procesal civil. Trad. de Niceto Alcal-Zamora y Castillo y Santiago Sents Melendo. Buenos Aires: Uteha, t. 2, p. 693. (p. 30) Bem, enquanto Carnelutti equipara a chamada ao terceiro ao exerccio de pretenso nova no bojo de processo em andamento, Chiovenda afirma a dessemelhana entre chamada ao terceiro e chamada ao demandado no processo-base. "El llamamiento del tercero en la intervencin forzosa es substancialmente muy distinto del
llamamiento al pleito del demandado por parte del actor, posto que no implica per se la proposicin de una demanda contra el tercero, o por parte suya..."{6} Para Chiovenda, a chamada ao terceiro constitui uma intimao que se faz a quem no figura na relao processual-base, podendo, de tal intimao, decorrer duas situaes distintas. Uma a de ser demandado pelas partes; outra, poder demandar as tais partes. A questo da extenso subjetiva do processo, para Chiovenda, secundria, tanto que no admite seja parte no processo o terceiro chamado. O principal, segundo Chiovenda, o alcance da coisa julgada. No particular, Sergio Costa diz da impossibilidade de o efeito da coisa julgada recair sobre quem no seja considerado parte.{7} Afirma este autor que "anche per lintervento coatto si presentato il fondamentale problema dellassunzione della 6. CHIovENDA, Giuseppe. Principios de derecho procesal civil. Trad. de Jos Casais y Santal. Madrid: Reus, 1922, t. 2, p. 715. 7. COSTA Sergio. Lintervento coatto. Podova: Cedam, 1935, p. 93 et seq. (p. 31) qualit di parte. Alcuni autori hanno infatti espresso lopinione che il terZo, finch non propone domande o finch verso di lui non ne propongono le parti, non diviene parte. Tale teoria per me erronea poich la domanda dintervento di per se stessa una demanda, e quindi il terzo, nei cui confronti la domanda proposta, divene parte".{8} Impe-se registrar que no direito italiano a litisdenunciao apresenta-se como gnero abrangente de, pelo menos, trs espcies distintas. A primeira espcie pertine exclusivamente ao processo e transparece na modalidade de carga processual que recai sobre a parte figurante na relao processual j estabelecida, cuja carga recai, outrossim, sobre o terceiro, desde que notificado. A carga sobre a parte figurante no processo resulta da necessidade de garantir-se do direito de regresso. A carga sobre o terceiro notificado resulta da necessidade de este atuar junto ao seu notificante, buscando evitar a sua sucumbncia, que pressuposto para o exerccio da ao regressiva que se far, a posteriori, em seu contra. A segunda espcie pertine obrigao fundada
em relao de direito material, desde que dela resulte relao jurdica conexa, por isso que a nodenunciao poder acarretar a necessidade de indenizar ao terceiro de prejuzos que este possa sofrer pela inao da parte da ao-base. 8. COSTA Sergio. Manuale di diritto processuale civile. 5 edizione, Torino: Utet, 1980, p. 189. (p. 32) A terceira espcie cuida de ser uma simples denunciao que se faz ao terceiro, no em razo de carga processual decorrente do interesse jurdico da parte figurante na relao processual-base, sim, to e s, como carga que resulta do interesse do prprio terceiro, qual o de ter conhecimento do processo, por isso que a deciso nele proferida poder afetar situao jurdica sua. No Cdigo Civil italiano esto as hipteses genricas autorizadoras da litisdenunciao, tanto fundada em razo processual como, outrossim, em razo material. Assim que no referido Cdigo sobressaem a primeira parte do art. 1.012; o art. 1.485; a primeira parte do art. 1.586; e a segunda parte do art. 1.772. "Art. 1.012.1 (Usurpazioni durante lusufrutto e azioni relative alle servit). Se durante lusufrutto un terzo commette usurpazione sul fondo o altrimenti offende le ragioni del proprietario, lusufruttuario tenuto a fargliene denunzia e, omettendola, responsabile dei danni che eventualmente siano derivati al proprietario (1.168, 1.586)." "Art. 1.485 (Chiamata in causa del venditore). Il compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, deve chiamare in causa il venditore (1.483; 106, 269 c.p.c.). Qualora non lo faccia e sia condannato sentenza passata in giudicato (2.909; 324 c.p.c.), perde il diritto alla garanzia se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda. (p. 33) Il compratore che ha spontaneamente riconosciuto il diritto del terzo perde il diritto alla garanzia, se non prova che non esistevano ragioni sufficienti per impedire levizione (1489)." "Art. 1 .586.1 (Pretese da parte di terzi). Se i terzi che arrecano le moiestie pretendono di avere diritti sulla cosa locata, il conduttore tenuto a darne pronto avviso al locatore, sotto pena del
risarcimento dei danni." "Art. 1.772.2 (Pluralit di depositanti e di depositari). Se pi sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalit stabilite dallautorit giudiziaria. La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono pi eredi, se la cosa non e divisibile (1.316). Se pi sono i depositari, il depositante ha facolt di chiedere la restituzione a quello tra essi che detiene la cosa. Questi deve darne pronta notizia agli altri." O primeiro artigo estabelece a responsabilidade do usufruturio em razo dos danos que o proprietrio possa sofrer caso este no seja denunciado das molstias provocadas por terceiro sobre a propriedade. Compreendendo, no caso, as molstias de fato, de direito e a molstia processual. O segundo artigo cuida da comunicao que deve fazer o comprador demandado ao seu vendedor, para garantir-se dos direitos que da evico possam resultar, sob pena de perda do direito de se ver reparado dos (p. 34) prejuzos pela perda do bem demandado, especialmente quando o alienante demonstra a m defesa do alienado e que, no tivesse sido assim, razes de fato e de direito existiam para exitar-se na demanda que lhe foi proposta. O terceiro artigo tanto resguarda o arrendatrio do dever de reparar o arrendador pelos prejuzos que este possa sofrer caso no seja notificado por aquele, da molstia de direito que terceiro pretenda cometer sobre o bem dado em arrendamento, como, tambm, faz recair sobre o arrendatrio o dever de chamar em garantia o arrendador para que este lhe assegure o uso total do bem cuja parte est sendo molestada por terceiro; por fim, garante ao arrendatrio o direito de nomear autoria o arrendador, caso aquele seja indevidamente demandado. O quarto artigo cuida do dever do depositrio de denunciar o depositante da ao em que terceiro reivindica a propriedade do bem dado em depsito, sob pena de, no o fazendo, ser responsabilizado junto ao depositante pelos prejuzos que este possa sofrer. O artigo tambm d ao depositrio base para litisdenunciar o depositante ou nome-lo autoria. Em razo da existncia de distino entre chamada que equivale chamada ao demandado e chamada que no equivale chamada ao demandado, resta a certeza de
que h casos em que as medidas de sujeio ou subordinao do terceiro so diferentes, uma vez que existe aquele que chamado, integra a relao processual, tem sobre si o efeito da coisa julgada, est sujeito aos direitos e deveres processuais, s possibilidades, s expectativas, s liberaes, e outros que a nada esto sujeitos, pelo menos no plano mediato, quando em uma nova ao vem-se impossibilitados de alegar exceo de m defesa no processo anterior ou de oporem-se sentena nele proferida. Assim, tem-se, dej, que so dissmeis a simples denncia (p. 35) do pleito e a chamada em garantia, esta que, no obstante de origem germnica, s se fez firmada no direito italiano em 1903, com Piero Calamandrei em sua La Chiamata in Garantia. O que se pretendeu aqui no foi dar nfase a preciosismo terminolgico, mas buscar conhecer os elementos de contedo que autorizam ou determinam a diferenciao entre a interveno voluntria ou espontnea, a coacta ou forada e a provocada. 2.1 - Direito romano Os romanos admitiam que, ordinariamente, a relao processual se estabelecia entre duas pessoas, contudo, no plano do extraordinrio, algum que no sendo demandante ou demandado podia intervir no processo voluntariamente, por provocao ou forosamente. No direito justineo distinguiam-se a interveno do co-proprietrio na lide em que um dos condminos tinha com terceiro; a interveno do co-devedor na lide do seu co-devedor ou do devedor principal; a interveno de um tutor na lide que envolvia outros tutores; a interveno do garante na lide pendente com o garantido, muito especialmente no caso de garantia que da evico resultasse. Scialoja, sobre a interveno romanstica, fez, a turno seu, o seguinte registro: "El proceso tiene lugar de ordinario entre dos personas, el actor y el demandado; pero no es raro el caso de que tenga que intervenir en el proceso una tercera persona, interesada en la controversia debatida. Este inters puede ser de dos clases: 1. el tercero puede estar interesado en hacer que prevalezcan los derechos de uno de los conten- (p. 36) dientes, de manera que intervenga para apoyar a uno de ellos, al actor o al demandado; en este caso
hablamos de intervencin accesoria, precisamente porque se accede o suma a uno de los dos litigantes; 2. tambin puede ocurrir que se intervenga para tutelar el propio inters frente al la cuestin pendiente entre los dos litigantes, y en este caso se habla de intervencin principal; porque el que interviene hace valer sus propios derechos y no refuerza los de ninguno de los dos contendientes. En el derecho justinianeo tenemos una numerosa serie de casos en que est admitida explcitamente la intervencin; no hay necesidad de que hagamos su enumeracin. Ya hemos hecho alusin anteriormente a casos mencionados en las frentes; todos son de la misma naturaleza; por ejemplo, la intervencin del copropietario en la litis que uno de los condminos tiene con terceros; la intervencin del codeudor en la litis de su codeudor o del deudor principal; la intervencin de un tutor en la litis que sostienen los otros tutores; la intervencin del patrono en la litis que sustenta el liberto y que pueda implicar una lesin de los derechos correspondientes al patrono; la intervencin del garante en la litis pendiente con el garantizado; y especialmente del vendedor respecto de su comprador, puesto que est obligado a la garanta por la eviccin. Se discute entre los intrpretes si la intervencin est limitada a estos casos mencionados en el Corpus iuris o si cabe sacar de estes casos y de ciertas frases de tipo genrico, una regla general en virtud de la cual se pueda admitir la intervencin en (p. 37) todos los casos en que el interventor tenga inters en tomar parte en la causa. La intervencin puede ser espontnea, y en tal caso no hay ms que el comienzo de una causa ante el mismo juez ante el cual pende la otra, ni hay nada de particular en el procedimiento; slo es de notar que, por una regla relativa a la cosa juzgada, en la clebre L. 63 de re iudicata, 42, 1, de Macro, cuando una persona conozea que est pendiente una causa entre otros dos y tenga tal inters en la definicin de ella que le autorice a intervenir si no interviene, la cosa juzgada que se constituya entre las partes litigantes, se puede oponer tambin a ella. Y en este aspecto, la intervencin viene a ser absolutamente necesaria.
El tercero puede tambin intervenir por haber sido llamado a la causa; esto es, porque las partes contendientes le denuncien la existencia de la litis y lo llamen a participar en ella. Esto ocurre sobre todo en el caso de garanta, en el que el comprador contra quien se acciona por terceros la eviccin del fundo, debe llamar a la causa al vendedor, si no quiere perder contra el los derechos de repeticin. En tal caso, el vendedor llamado a la causa debe intervenir; o, si no interviene, es tratado de la manera ms desventajosa para l. Este llamamiento a la causa se hace mediante una simple denuntiatio de la existencia de la litis, que parece no estuviera sometida a ninguna forma especial; pero que, naturalmente deba certificarse tambin mediante testigos. Otro caso de llamamiento necesario a causa es aquel en que se haya intentado una accin de reivindicacin contra quien posea a (p. 38) nombre de otro; tal tenedor se encuentra en el deber de nominarse auctoren, esto es, de denunciar el nombre de la persona del verdadero poseedor jurdico y de lamarlo a la causa."{9} No molesto trazer o registro de P. Van Wetter,{10} nas Pandectes, que d notcia da possibilidade do terceiro intervir no processo para coadjuvar com um dos demandantes, como tambm para defender interesse prprio, tanto voluntariamente como por provocao. Do texto pandectista transparecem as figuras do assistente, do opoente, do chamante, do nomeante e, por fim, equipara-se o direito de intervir com o direito de apelar. "Parfois un tiers intervient dans un procs, soit pour dfendre les intrtes dun plaideur et aussi les siens propres, soit pour dfendre exclusivement ses intrtes personnels. I - Lintervention a lieu dans le but de dfendre les intrts dune parti e et des intrts personnels: 1) lorsque le defendeur une action revendicatoire est un simple dtenteur el quil met en cause celui au nom de qui il possde; 2) lorsquun acqureur est engag dans un procs qui pourrait amener son viction et quil met son garant en cause; 3) lorsquun des dbiteurs dune dette solidaire ou dune dette indivisible est poursuivi pour le tout et quil met en cause ses codbiteurs. 9. SCIALOJA. Procedimiento civil romano, p. 427-428.
10. WETTER, P. van. Pandectes. Paris, 1909, t. 1, p. 397. (p. 39) II - Le droit dintervenir dans une instance pour la dfense dintrts personnels est reconnu: 1) un hritier lorsquun cohritier dfend des droit hrditaires, 2) au lgataire par rapport une instance o il sagit, soit de la validit du testament qui contient le legs, soit de la proprit de la chose lgue, 3) un copropritaire par rapport laction en partage, laction confessoire ou laction ngatoire, 4) au dbiteur principal et au fidjusseur ainsi quaux codbiteurs solidaires lorque lun deux est poursuivi en payement de la dette, 5) aux cotuteurs lorsque lun deux estpoursuivi par le pupille du chef de la tutelle, 6) dans le cas de saisie dune chose pour lexcution dun jugement de condamnation, celuo qui est propritaire de cette chose ou qui a une hypothque sur elle. Le droit dintervention dans un procs implique celui dappel." Tem-se que a diferenciao denominacional reside em modelos histricos distintos, tais como um modelo de interveno coativa, forada ou chamada em causa, do direito italiano, a adicitatio, que resulta na extenso da relao processual subjetiva/objetiva que se d no mesmo processo, e outro modelo da denncia do litgio ou interveno provocada, que se d em um segundo processo, caso o denunciante sucumba no primeiro, tratando-se, assim, de uma mera notificao que (p. 40) no equivale ao exerccio do direito de ao, por conseguinte, com carga totalmente diferente para o litisdenunciado; o modelo da ZPO de 1877. A essa altura, fora convir que o modelo alemo da Streitverkndung (denncia do pleito), do 72 da ZPO, pode ter certa similitude com o modelo especial italiano da chamada em causa e no tanto com o modelo geral da chamada por comunidade de causas. A denncia do pleito do direito alemo (Steitverkndung) funda-se na litisdenuntiatio do direito romano, enquanto a chamada em garantia italiana, tem razes no antigo direito germnico, com evoluo marcante no direito franco, que foi admitida pelo ancien rgime do sistema francs, sancionada pelo Code de Procdure Civile de 1806 e acolhida pela legislao processual italiana.
importante fique esclarecido que a litisdenunciao do direito romano clssico consistia em uma simples notificao que o comprador fazia ao vendedor a fim de garantir-se dos direitos que da evico (perda do bem por deciso judicial) pudesse resultar. Em hiptese alguma a litisdenunciao romanstica admitia a cumulao eventual de aes, tal como uma ao nova no bojo da ao originria. A chamada em garantia, por seu turno, do antigo direito germnico consistia na obrigao do garante de vir ao processo e assumir a defesa do bem que estava sendo pleiteado por outrem, e quando sucumbente viase obrigado a indenizar o seu comprador. Na Frana, a chamada em garantia foi sancionada pela Ordenao de Luis XIV de 1667, no obstante anteriormente ter sido includa na Ordenao de Francisco I, de 1539, que, por seu turno, precedia da codificao napolenica. (p. 41) Na Itlia, prevaleceu a chamada em garantia do Cdigo de Napoleo, no obstante no sculo XI tenha sido manifestada maior tendncia para a litisdenunciao romanstica. Por isso no era admitida a cumulao convencional da ao de indenizao, mas sim, to e s, que dita ao fosse proposta posteriormente perante o mesmo juiz que conheceu a ao de molstia. 2.2 - Direito alemo Para os alemes, contudo, h um modelo de interveno de terceiros diferente da interveno coativa do direito italiano, por isso que a intimao do terceiro, para intervir na condio de titular de uma relao jurdica conexa por prejudicialidade ou por dependncia ou por conexo alternativa, no se assemelha ao exerccio da pretenso; trata-se de uma mera provocao em que o terceiro toma cincia daquele processo, tendo sobre si a carga do comparecimento, mas no sujeito ao efeito da coisa julgada. Registre-se, no entanto, que a interveno coativa do direito italiano tem como fonte a adcitatio do antigo direito germnico, enquanto que a interveno provocada da atual ZPO alem conseqente do prprio antigo direito alemo e do modelo histrico da litisdenunciao comum do direito romano que, por seu turno, conheceu uma enormidade de situaes fticas e de implicaes jurdicas autorizadoras da interveno.
No direito alemo, a denncia do litgio no tida como uma simples denncia, sim como uma comunicao formal, na expresso de Wach e Hellwig, capaz de (p. 42) provocar efeitos imediatos e mediatos sobre aquele que a recebe e sobre aquele que a formula. O efeito imediato a interveno adesiva, coadjuvante, do denunciado em prol do seu denunciante; o efeito mediato pode ser visto no segundo processo que se instaura caso o denunciante sucumba no primeiro, nisso contrapondo-se litisdenunciao do direito romanstico e ao modelo de litisdenunciao do direito italiano. No direito italiano, a litisdenunciao tem como movere certa medida de direito ttico material, tanto que os seus fundamentos esto no seu Cdigo Civil, revelando-se menos como um instituto jurdico-processual. Para o direito italiano, a interveno, na hiptese, se d pela chamada em causa, tambm por comunidade de causa, ou chamada em garantia prpria ou imprpria; para o direito alemo, o mecanismo ser sempre o da denncia do litgio do 72 do ZPO, no obstante no seja possvel olvidar que no direito alemo h, outrossim, chamada de terceiro semelhante adicitatio do direito italiano. Na segunda metade do sculo XIX, quando se cuida de codificar o Direito Processual para todo o Imprio, tanto na Alemanha como na Austria, a chamada em garantia foi desacolhida por razes histricas e tcnicas. A ZPO alem de 1877 desacolheu-a por razes tcnico-ideolgico-jurdicas com a alegao de que a admisso de uma cumulao eventual do mesmo processo no se explica terica, histrica e praticamente, uma vez que a ao de molstia s ter valia se for prspera a pretenso sobre o chamante. Por tais razes a chamada em garantia , para o legislador de 1877, de nenhum benefcio, sendo s antieconmico no plano de custo e tempo. (p. 43) 2.3 - Direito italiano A interveno de terceiros no direito italiano, do ngulo historicista, remonta ao tempo da adcitatio, instituto com razes no direito cannico, utilizado especialmente nas questes que versavam sobre direitos eclesisticos e outros do interesse dos feudatrios, que recebiam dos seus senhores a outorga para gestionarem em seu prprio benefcio bem imvel ou outros, de natureza diversa. Pela adcitatio, os terceiros interessados na questo eram chamados ao processo, e desde
que tal acontecia ficavam vinculados sentena sem condies de se oporem, posteriormente, a ela, ou de reclamarem o direito j objeto da deciso{11}." Ela provoca a extenso objetiva/subjetiva como elementos do processo, por isso que chama a integrar a relao jurdicoprocessual um terceiro titular de uma relao jurdica conexa, por compatibilidade ou incompatibilidade, com o objeto do mesmo processo, resultando numa espcie de provocatio ad agendum. A adcitatio do direito cannico fundou-se, por seu turno, no antigo processo germnico e no direito processual de certos territrios em que se aplicava o direito longobardo.{12} No processo germnico a adcitatio no tendia litisconsorciao necessria, sim aos casos de conexidade de causas identificveis com o "litisconsrcio quase-necessrio" e a "interveno litisconsorcial". O Cdigo de Processo Civil italiano de 1040 admite a interveno coativa ou adcitatio (chamada em causa), distinguindo a que se d por provocao da que 11. Na ao usucapio so chamados terceiros interessados. 12. ALVAREZ, Lopez-Fragoso Tomas. Op. cit., 21-25. conforme WETZELL, CHIOVENDA et al. (p. 44) se d por ordem do juiz (intervencin iussu iudicis arts. 106 e 107 do CPC italiano): "Art. 106. Ciascuna parte puo chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantia." "Art. 107. Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa comune, ne ordina lintervento." Questo polmica na doutrina italiana, quanto ao art. 106, a da comunidade de causas. Construiu-se um pensamento doutrinal majoritrio, com Redenti, que concebeu a causa comum como conexo (objetiva/subjetiva) entre o objeto de um processo em curso e a relao jurdica de que titular um terceiro. A corrente majoritria, por isso no unnime, e a no-unanimidade reside no confronto que se estabelece entre a chamada em causa, o litisconsrcio necessrio e a integrao do contraditrio. Montero Aroca cuidou de distinguir os trs institutos confrontados, reservando ao litisconsrcio necessrio a noo de uma nica relao jurdica com mais de um titular, com implicaes inevitveis na composio subjetiva do processo na sentena e nos seus efeitos. Chiovenda
construiu sobre o litisconsrcio necessrio a sua teoria de "sentena intil", desde que a litisconsorciao no se formasse como deveria se formar, o que implicaria a necessidade de admitir a carncia da ao, j que sustentou tratar-se de pretenses de direitos potestativos com vistas na modificao, constituio e extino de uma relao jurdica plurissubjetiva. Foi resistido por Redenti que, contrapondo-se, sustentou que, nos casos de litisconsorciao necessria, as pretenses podem (p. 45) ser variadas, no simplesmente potestativas, sim, tambm, constitutivas, declaratrias ou condenatrias. E, caso a litisconsorciao no se forme no momento em que deveria se formar, cabe chamar ao processo os litisconsortes necessrios preteridos, para a integrao do contraditrio, e no decretar a carncia da ao. O pensamento de Redenti foi acolhido pelo atual Cdigo Penal italiano, especialmente quanto integrao do contraditrio. Outro ponto que se tornou polmico na doutrina italiana foi o concernente concorrncia dos elementos objetivos do processo, se necessariamente devem coexistir a causa petendi e o pedido, ou um s separadamente. Tambm a a doutrina dele dissentiu, restando forte corrente pelos dois elementos. Michelli, por exemplo, diz que "para que a parte possa chamar causa a um terceiro necessrio que a mesma considere comum a causa e, por conseguinte, que aquele sujeito que permaneceu estranho ao processo, seja titular de uma situao jurdica conexa com aquela que objeto do juzo, bastando ter comum com esta ltima o pedido e a causa de pedir".{13} A integrao do contraditrio, por seu turno, se prende noo de oportunidade e economia de tempo e custo processuais, no sendo, necessariamente, nico o juzo no mbito do direito material.{14} 13. MICHELLI, Gian Antonio. Curso de derecho procesal civil. Trad. de Santiago Sents Melendo. Buenos Aires: Europa-Amrica, 1970, v. 1. 14. Conforme CHIOVENDA, Giuseppe. Principii..., it.; COSTA, Sergio. Manuale..., cit.; MICHELLI, Gian Antonio. Curso de derecho procesal civil, Cit. (p. 46) 3 - INTERVENO DE TERCEIROS, OS PRINCPIOS PROCESSUAIS E AS CONDIES DA AO
So considerados princpios do processo as diretrizes estabelecidas por determinado ordenamento jurdico como de observao imprescindvel para se levar a bom termo o fazimento da justia naquelas situaes de conflito apresentadas ao Estado-Juiz. No possvel afirmar que os princpios do processo sejam imutveis e no suscetveis de variao de um para outro ordenamento,{15} j que dizem respeito s condutas que devem ser vivenciadas na soluo dos conflitos de interesses, e estas podem ter uma ou outra caracterstica conforme seja maior ou menor a liberalidade cultural de cada povo seu destinatrio.{16} Para Podetti,{17} tais princpios so, a rigor, bases prvias para a estruturao das leis processuais. Impem-se consideraes sobre a interveno de terceiros e os princpios processuais, uma vez que no se pode deixar de ter em conta que o exerccio da atividade intervencional , a rigor, exerccio de direito de ao que , para o pandectista citado, "la facult de poursuivre un droit en justice" e supe "un droit dans le chef dune personne et la lsion de ce droit de la part dune autre personnne". Assim, quero exerccio que se d por provocao, quer o que se d por espontaneida 15. Toda sociedade regida por um conjunto de normas que forma o seu ordenamento jurdico. 16. Direito cincia ontologicamente cultural, por isso que cada povo tem o seu com as suas peculiaridades, e s diz respeito ao homem em sociedade j que ele o nico animal aculturvel. 17. PODETTI. Tratado de la competencia, p. 66. (p. 47) de, tanto num como noutro, a parte est exercitando direito de ao vez que busca o reconhecimento de um direito violado ou desconhecido. No importa esteja a parte interveniente no plo ativo (opoente, denunciante, nomeante ou chamante) ou no plo passivo (oposto, denunciado, nomeado ou chamado) da relao processual, o que convm que o interveniente est sempre em juzo em razo ou do direito tutelado pela ao (opoente, denunciado, nomeado) ou em razo de modo equvoco de obrar (chamado), buscando acertar um dos pressupostos subjetivos do processo, que requisito de admissibilidade da demanda - a parte. De qualquer sorte, vale-se sempre de um direito para assegurar outro direito, aquele, ento, o direito de ao.{18}
4 - INTERVENO E O PRINCPIO DISPOSITIVO A interveno de um terceiro no processo no se d sem a observncia do princpio dispositivo{19} que materializa e delimita, por seu turno, o exerccio do direito de ao. A sua ocorrncia estar sempre merc da iniciativa do interessado, que agir voluntariamente ou por provocao de parte figurante na relao processual preexistente. "Nemo index sine actore; nefro cedat index ex officio." Excepcionalmente, poder-se-ia admitir a interveno iussu iudicis, ou seja, interveno por 18. o direito elevado segunda potncia, na expresso de Mattirolo (Tratado,t. 1,p. 14). 19. PALACIO, Lino Enrique. Derecho procesal civil - Sujetos del proceso. v. 1, p. 254. (p. 48) ordem do juiz sem provocao da parte. O nosso diploma processual civil vigente no prev a interveno de terceiro no processo por determinao judicial como previu o Cdigo de 39, no seu art. 91, que dispunha: "O juiz, quando necessrio, ordenar a citao de terceiros, para integrarem a contestao. Se a parte interessada no promover a citao no prazo marcado, o juiz absolver o ru da instncia." No Cdigo atual no h figura idntica no que pertine interveno de terceiros, sim, to e s, no que concerne ao litisconsorte necessrio, que no terceiro, por isso que parte. o que se v no art. 47, pargrafo nico, do Cdigo de Processo Civil: "O juiz ordenar ao autor que promova a citao de todos os litisconsortes necessrios, dentro do prazo que assinar, sob pena de declarar extinto o processo." Ocorre, contudo, que nem mesmo no caso de interveno iussu iudicis do Cdigo pretrito o princpio dispositivo era inobservado uma vez que o comando do juiz recaa, como si acontecer hoje com o litisconsorte necessrio, sobre a parte para que esta promovesse a integrao do terceiro no contraditrio em razo da comunidade de causas, por questo de oportunidade, ou em razo de litisconsorciao necessria, por questo de imprescindibilidade. o que se pode extrair, tambm, do cotejo dos arts. 102 e 107 do Codice di Procedura Civil italiano, fontes daquele dispositivo do Cdigo mais anoso e no mais vigente. (p. 49) O princpio dispositivo no se constitui apenas da conduta do sujeito em tomar a iniciativa da provocao
da jurisdio posta em sua inrcia, seu estado natural.{20} Existem outros componentes do princpio dispositivo. possvel vislumbrar, alm da provocao, o fenmeno da vinculao do rgo judicial s pretenses expostas, tanto pelas partes originrias como, tambm, pelos terceiros, que, no obstante secundados na iniciao da relao processual, tornam-se partes, visto o alcance objetivo e o subjetivo da coisa julgada. O impulso processual, factum simile da provocao, , de igual modo, um outro componente do princpio dispositivo, tocando ao terceiro interveniente exerc-lo diligentemente no curso do processo para que no perea direito seu e no sofra as conseqncias processuais de sua inao, que o no desencumbir-se de certa carga processual, podendo ser, tambm, a noutilizao de uma possibilidade processual.{21} O impulso, a seu tempo, desde que no advinda a precluso temporal, que o fenmeno processual substitutivo do que no se fez, evita a perda de direitos inerentes ao processo, tanto de falar nos autos como de lhe dar continuidade. Esses efeitos da inao (de falar e dar continuidade) so ditos efeitos gerais, existindo, a seu par, os efeitos especiais. Dos especiais sobressaem a transmisso de um direito da parte inativa parte opsita; a declarao desfavorvel parte omissa; um resultado probatrio desfavorvel; a considerao de defeito de um ato processual, anteriormente praticado 20. Indaga-se do acerto das denominaes que se faz s jurisdies contenciosa e voluntria. A contenciosidade e voluntariedade so sempre das partes e dos interessados, no da jurisdio serena e imparcial. 21. GOLDSHMIDT, James. Derecho procesal civil. Barcelona: Labor, p. 208. (p. 50) pela parte silente; e a sanao de defeitos de atos da parte adversa.{22} Impulso processual e direitos inerentes ao processo, tambm tidos como direitos processuais, esto correlacionados. Goldschmidt{23} entende por direitos processuais as expectativas, possibilidades e liberaes de cargas processuais. As expectativas, ensina o professor alemo, so esperanas de se obter futuras vantagens processuais sem necessidade de ato algum prprio. o caso da parte que se beneficia pela inao da outra; ou do beneficio da parte por ato de ofcio do juiz.
Possibilidades so situaes que permitem obter certa vantagem processual pela execuo de atos do processo. Cita-se o exemplo, no plano material, da possibilidade da sentena favorvel. No plano processual, a possibilidade de ser ouvido em juzo; de prestar juramento; de opor-se s alegaes da parte contrria; do litisconsorte impulsionar o processo; do interveniente (opoente, nomeado, denunciado, chamado) exercitar meios de ataque e defesa. Liberaes de cargas processuais so as situaes que permitem parte abster-se de realizar determinados atos sem que da absteno lhe sobrevenha qualquer prejuzo. Expectativas e liberaes so, pois, figuras processuais que se explicam mutuamente, e tanto estas como as possibilidades so de profunda repercusso pragmtica no campo das figuras intervencionais. Os demais componentes do princpio dispositivo podem ser identificados como a delimitao do thema 22. GOLDSCHMIDT, James. Op. cit., p. 209. 23. Ibidem, p. 194-195. (p. 51) decidendwn, que obriga o juiz a observncia do princpio da congruncia ou da correlao (princpio do procedimento) e, tambm, o direito de provar, o quanto necessario, as suas asseres. Ao princpio dispositivo, no entanto, mesmo nos casos de interveno de terceiros, fazem-se certas restries, por isso que independente da iniciativa de qualquer parte pode o juiz, em caso de incompetncia absoluta, declar-la; pode tambm extinguir o processo por falta de condies da ao, quais o interesse processual, a possibilidade jurdica do pedido e a legitimidade para a causa ou para o processo. Pode, outrossim, o juiz condenar o vencido, mesmo terceiro, no pagamento de juros legais, das prestaes peridicas vencidas aps a interveno e das custas processuais, ainda que no requeridas. Ainda pode declarar a nulidade de certos atos do processo, desde que eivados de vcios irrefutveis, alm de extingui-lo pelo abandono. So as crises do processo, tambm terminao anmala do processo. 5 - INTERVENO E O PRINCPIO DA AUDINCIA DA PARTE CONTRRIA A par do princpio dispositivo, tem-se, tambm, o princpio da audincia da parte contrria, de igual modo disciplinador do exerccio da ao (nemo inauditus
damnari potest). Ao terceiro interveniente, opoente, denunciado lide, nomeado autoria e chamado ao processo, assegurado o direito de participar de todas as quadras do procedimento, pena de ser-lhe sonegado no s direito inerente ao processo, mas, sobretudo, constitucional. Observe-se que o princpio determina seja a parte chamada a participar; no se lhe impe a participao, que, a contrario sensu, recai na inao e na expectativa. (p. 52) 6 - INTERVENO E O PRINCPIO DA IGUALDADE Acresce-se o princpio da igualdade que, no processo, significa a ocorrncia de isonomia jurdica entre as partes nos planos das expectativas, possibilidades e liberaes das cargas processuais, no obstante saberse que, sociologicamente, so elas desiguais. Para Ramos Mendez,{24} estes princpios esto elevados categoria de garantia fundamental do processo. 6.1 - Princpios que regem o procedimento Vistos os princpios que regulam o processo, seguem-se os que regem o procedimento, quais o do impulso oficial, que determina ao juiz a conduo do processo, observada a "metodologia" ditada pela lei, indo de fase em fase at alcanar o seu escopo maior e precpuo, que a sentena definitiva, salvo se formas anormais de terminao do processo interceptarem o seu curso e outra deciso, com ou sem apreciao do mrito, se fizer exigida{25} Tambm o princpio da congruncia, que impe ao julgador o dever de emitir juzo apenas sobre o que se constitui objeto das pretenses das partes, evitando, assim, as sentenas citra petita, extra petita e ultra petita. 6.2 - O princpio da imediao Segue-se o princpio da imediao, que , sim, tautolgico, no dizer de Ramos Mendez, uma vez que, 24. MENDEZ, Francisco Ramos. Derecho procesal civil. Barcelona: Bosch, p. 339. 25. Cf. FORNACIARI, Mario Alberto. Modos anormales de terminacin del proceso. Buenos Aires: Depalma, 1981, v. 1, 2 e 3. (p. 53) tendo o Estado tomado para si o poder e o dever de exercer jurisdio, e se tal mister se faz exclusivamente atravs de representantes seus investidos de poder especfico, desnecessrio erigir princpio estabelecedor de
que as atividades das partes envolvidas em conflito intersubjetivo de interesses sejam intermediadas pelo juiz, pelo rbitro, pelo conciliador, pois que h a vedao constitucional do tribunal de exceo. Kisch v, no princpio da imediao, plena relao com o princpio da oralidade, sem, contudo, significar o mesmo. 7 - INTERVENO E OUTROS PRINCPIOS O terceiro interveniente, no dessemelhante das partes originariamente figurantes na relao processual, sujeita-se, ainda, aos princpios da oralidade e da escritura; da publicidade e do sigilo; da concentrao da eventualidade; e, por fim, ao princpio da aquisio. 7.1 - O princpio da oralidade e da escritura O princpio da oralidade se contrape ao da escritura. O primeiro cuida dos atos praticados por palavras; o segundo cuida dos atos praticados por escrito: "Oralidade del procedimiento es el principio segn el cual las manfestaciones y declaraciones que se hagan a los tribunales; para ser eficases, necesitan ser formuladas de palabra. Por contraposicin a l, el de la escritura significar (p. 54) que esas manifestaciones y declaraciones tienen que realizar-se por escrito para ser vlidas".{26} 7.2 - O princpio da publicidade O princpio da publicidade o que estabelece a possibilidade de todos assistirem prtica dos atos processuais. de singular importncia para o Estado-Juiz visto que, por ele, tem-se a transparncia de todos os seus atos. Para a sociedade tem carter educativo,{27} posto transmitirlhe a verdadeira imagem do Judicirio, infundindo-lhe os sentimentos de segurana e respeito. Para o poder elemento tranqilizador, por isso que, desde que pblico, afasta opinies distorcidas e juzos temerrios dos que desconhecem os verdadeiros fundamentos das decises. 7.3 - O princpio do sigilo Em contrrio, o princpio do sigilo, que cuida de preservar a imagem das pessoas em certos e determinados casos previstos em lei, bem assim os fatos que as envolvem. Tambm, de ofcio, e por questes de ordem mais a preservao da imagem da pessoa, pode o juiz determinar a prtica de atos sem publicidade. No,
contudo, quanto s partes envolvidas no processo. O princpio da publicidade (Parteiffenlichkeit) para as partes no sofre restries. 7.4 - O princpio da concentrao Princpio da concentrao o que cuida de determinar a prtica de todos os atos do processo no mesmo 26. KISCH, W. Elementos de derecho procesal civil. Madrid: Revista de Derecho Privado, 1944, p. 129. 27. Ibidemn, p. 125. (p. 55) espao de tempo. Por ele se elimina o suprfluo, o desnecessrio. Toca ao juiz observ-lo com mais rigor, indeferindo os pleitos orais (de audincia) ou escritos, impertinentes, protelatrios e despiciendos.{28} 7.5 - O princpio da eventualidade O princpio da eventualidade impe parte o dever de praticar todos os atos do processo, no tempo destinado a sua prtica. Assim, a um s tempo so oferecidas as preliminares, as prejudiciais, a reconveno, e aduz-se questo de mrito. Como, outrossim, do princpio da eventualidade tem-se a necessidade de se observar o ato adequado para aquela quadra do processo. Na nomeao autoria, por exemplo, o princpio da eventualidade dita que, havendo nomeao, no h a contestao at que se decida sobre a legitimidade passiva; no aceita a nomeao e, persistindo o nomeante no plo passivo, impe-se-lhe, at por coerncia de conduta, aduzir, em preliminar, sua ilegitimidade passiva. Tudo se rege pelo princpio da eventualidade. 7.6 - O princpio da aquisio Princpio da aquisio, por este tem-se que os atos praticados por uma das partes incorporam-se aos atos praticados pela outra, tomando-se, por isso, todos comuns. Sendo, ento, prejudicial certo ato praticado por uma das partes, -lhe impossvel dele desistir, pois 28. GOZAINI, Osvaldo Alfredo. Derecho procesal civil. Buenos Aires: Ediar, v. 1, p. 360. (p. 56) a outra j o adquiriu. Est agora em seu benefcio e em desfavor de quem o praticou ou o subministrou.{29} 7.7 - O princpio da economia processual Outro o quadro quando se cuida do princpio da
economia processual com os seus dois componentes: tempo e custo do processo. Nas hipteses de nomeao autoria e chamamento ao processo, tal princpio de notria adeqao. Veja-se, agora, a oposio. Trata-se de interveno voluntria que se d no curso de ao proposta afetando, sensivelmente, a celeridade do processo em andamento. Em Portugal, Jos Alberto dos Reis e Lopes Cardoso travaram acirrados debates sobre a convenincia ou no dessa modalidade de interveno, uma vez que a sua no-utilizao nenhum prejuzo traz ao sujeito detentor do direito alegado, no todo ou em parte, e disputado pelos protagonistas da ao em curso. Venceu o primeiro jurista lusitano, defensor do instituto, com o forte argumento de que o surgimento do opoente fornece ao julgador mais elementos para emisso do seu juzo; amplia-lhe, pois, os limites da cognio. Enquanto isso, Parra Quijano,{30} da Escola colombiana, apresenta uma justificao sociolgica para a oposio que se me afigura de singular aceitao, sob o argumento de que "la figura en estudio procesa en adecuada forma la angustia e incertidumbre que se apodera de una persona, cuando se da cuenta que un derecho o 29. ALSINA. Tratado terico prctico de derecho procesal civil y comercial - Parte general. 2. ed., Buenos Aires: Ediar. v. 1, p. 459. 30. QUIJANO, Jairo Parra. La intervencin de terceros en el proceso civil. Buenos Aires: Depalma, 1986, p. 101. (p. 57) cosa que presuntamente le perteneca, est siendo disputado por otros como si fuera de ellos. Si tuviera que esperar para poder iniciar proceso a fim de obtener el reconocimniento de su derecho, su angustia sera mayor y se prolongara intilmente; a fim de evitar esto, si esa persona quiere, puede hacer valer su pretensin frente a las partes originales o primigenias, en el mismo proceso". Quanto denunciao, para o autor da ao originria, quando a denunciao se d pelo requerido, conduta opsita ao princpio da celeridade processual, vez que ele nada tem a ver com o denunciado da ao subseqente, sofrendo, Lom isto, o retardamento da soluo do conflito mais por interesse do seu demandado e denunciante do que propriamente interesse seu. Fora convir, no entanto, que, enquanto a oposio regida pela espontaneidade, a denunciao no o , por isso que a legalidade sua determinante, especialmente
nos casos de garantia dos riscos resultantes da evico. 8 - PRESSUPOSTOS DE EXISTNCIA DO PROCESSO ORIGINRIO Os pressupostos de existncia do processo aqui dito originrio so: uma relao jurdica conflitada com medida de acionabilidade, para a qual no houve resoluo (do que resultou o direito de pretenso); a identificao dos sujeitos envolvidos no conflito, o que permite aferir a capacitao e legitimao ad causam e ad processum; um pedido formulado e instrudo conforme as leis processuais; e, por fim, um rgo estatal incumbido constitucionalmente de apresentar soluo para o conflito. (p. 58) 9 - PRESSUPOSTOS DE EXISTNCIA DO PROCESSO SUPERVENIENTE Com a possibilidade e o exerccio do direito de intervir, prope-se uma demanda fundada sempre no direito pblico subjetivo de ao, que o Estado reconhece no indivduo e cujo exerccio lhe assegura; digo reconhece, no, confere. O conferir pertine ao direito objetivo. O sujeito, fazendo uso do seu status civitatis,{*} instaura-se um novo processo, mesmo que no bojo do originariamente existente e, por conseqncia, impese, momentaneamente, a modificao do procedimento. o caso da oposio, quando o juiz susta o curso do processo originrio por noventa dias; da denunciao da lide, com a suspenso do processo para a citao do denunciado; do chamamento ao processo, tambm com a sua suspenso conforme o art. 79 do Cdigo de Processo Civil, e, por fim, a suspenso que se faz no caso de nomeao autoria. So, tambm, crises do procedimento. Os pressupostos de existncia desse processo superveniente sobressaem-se em quatro nveis distintos: a) em primeiro nvel, imprescinde que haja um processo originrio vlido, portanto, que satisfaa os pressupostos de sua existncia e mais as condies da ao que por ele se exercita. indiferente haja ou no no processo sentena trnsita em julgado j que se pode ter, como modalidades intervencionais o recurso de terceiro interessado e os embargos de terceiros *. O status civitatis um dos componentes da personalidade no compo do direito pblico, juntamente com o status subiectionis, o status libertatis e o status activae civitatis. (p. 59) oponveis sentena provisria ou definitivamente excutida; a oposio, forma de interveno nominada,
contudo, se d at o momento da sentena; a denunciao da lide, a nomeao autoria e o chamamento ao processo, ditos tambm de interveno nominada, do-se no prazo de resposta, sendo que a primeira - denunciao da lide - pode-se dar quando da propositura da ao; b) em segundo nvel, imprescindvel que o interveniente (voluntrio ou provovado) satisfaa a condio de terceiro com interesse jurdico, no plano imediato ou mediato. Diz-se plano imediato quando o bem de vida ou a relao jurdica conflitada no processo originrio pertence tambm, mesmo que em tese, ao terceiro. Diz-se plano mediato quando o bem ou a relao jurdica conflitada no processo originrio no pertine diretamente ao terceiro, mas sim a outro que poder ser afetado em razo da deciso que vier a ser proferida no processo originrio. c) em terceiro nvel, que haja a pretenso resultante da atingibilidade ou resolvibilidade que possam decorrer do alcance objetivo/subjetivo da coisa julgada no processo originrio. Quer isso dizer que a iminncia de soluo (resolvibilidade) ou de conflito maior (atingibilidade) que possa restar ao terceiro, em razo do processo originrio, fato que incide sobre o direito da parte nele figurante e que a autoriza a provocar a interveno; ou fato que incide sobre o direito de terceiro, que o autoriza a exercitar a sua pretenso, intrometendo-se voluntariamente no curso do processo em andamento. (p. 60) d) em quarto nvel, a acionabilidade da pretenso na condio de terceiro. Pretende-se com isso dizer que em dados casos, no obstante a incidncia, a pretenso no acionvel na condio de terceiro por vedao legal, restando ao sujeito a deduo de sua pretenso atravs de ao originria. V-se o bice da acionabilidade da pretenso do terceiro, por exemplo, na agoral redao do inciso I do art. 280 do Cdigo de Processo Civil, que afasta a interveno de terceiros no procedimento sumrio, exceto nos casos de assistncia e recurso de terceiro interessado. Na hiptese de interveno em procedimento de jurisdio voluntria, dir-se- da imprescindibilidade da existncia do interessado de uma situao ftica constitutiva de nova relao jurdica com o bem e, de igual modo, de um rgo jurisdicional. 10 - PARTE E TERCEIRO A UM S TEMPO - EXCEPCIONALIDADE
Diz-se terceiro aquele que, posto com interesse jurdico, no parte no processo, ou excepcionalmente o . Parte e terceiro, a rigor, podem ser tidos em dois planos: o primeiro, concernente parte, de carter positivo, por isso parte aquele que ; o segundo, concernente ao terceiro, de carter negativo, por isso terceiro aquele que no . Este segundo plano excepcionado e, por isso, si transparecer de singular significao doutrinal e prtica, visto que a lei considera terceiro quem seja parte na relao processual, no sendo, no entanto, interveniente. (p. 61) Entre ns, a hiptese prevista no art. 1.046, caput, e 2 do Cdigo de Processo Civil, que cuida dos embargos de terceiro, e, no concernente ao caput, aduz ao terceiro interveniente no-nominado. o que transparece da literalidade do texto: "Quem, no sendo parte no processo, sofrer turbao ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreenso judicial, em casos como o de penhora, depsito, arresto, seqestro, alienao judicial, arrecadao, arrolamento, inventrio, partilha, poder requerer lhe sejam manutenidos ou restitudos por meio de embargos." O 2 do mesmo artigo faz aluso a um terceiro que j parte, portanto, em momento algum interveniente. Eis o texto: "Equipara-se a terceiro a parte que, posto figure no processo, defende bens que, pelo ttulo de sua aquisio ou pela qualidade em que os possuir, no podem ser atingidos pela apreenso judicial." Por outro lado, existe a possibilidade de o sujeito ser interveniente, sem ser terceiro, por isso que parte por fora da lei que o autoriza a intervir: o caso do credor que se habilita na falncia. Poder-se-ia cogitar do "direito de intervir" como um dos pressupostos de admissibilidade do terceiro no processo, todavia no disso que aqui se trata, devido ao seu carter subjetivo, abstrato, genrico e comum a todo sujeito. Cuida-se aqui do "interesse de intervir", posto ser um elemento concreto, especfico, decorrente do conflito intersubjetivo de interesses sem resoluo. (p. 62) O interesse de intervir decorre do interesse jurdico que resulta da relao jurdica predominante. A admisso do interveniente sem interesse jurdico implicaria tumulto processual responsvel pela no-consecuo do fim objetivado pelo processo e, em especial, do
fim a que se destina o instituto da interveno. Impe-se no olvidar que h o terceiro interessado alcanvel direta ou indiretamente pelo efeito da coisa julgada, de onde advm o alargamento dos limites subjetivos do processo; e de que h o terceiro desinteressado no alcanvel por esse efeito, exceto pela sua autoridade de ato processual poltico. Diz-se ato processual poltico no no sentido ideolgico, mas como prprio do processo e de sua repercusso na plis, na qual se impe o acatamento por todos. Vem com acerto, em razo disso, o ensino chiovendiano de que "todos so obrigados a reconhecer o julgado entre as partes; no podem, porm, ser prejudicados. Mas por prejuzo no se compreende um prejuzo de mero fato, e sim um prejuzo jurdico".{31} Na esteira desse raciocnio, o alcance subjetivo da coisa julgada e a interveno de terceiros so pertinentes, j que esta cuida de fazer evitar o prejuzo jurdico do sujeito interessado. A iminncia do prejuzo jurdico tambm explica o interesse. No foi sem razo que Jorge Americano, quando comentou o Cdigo de Processo Civil de 39, preocupou-se em aclarar o sentido da expresso terceiro, que convm interveno, e qual o critrio que se deve ter em conta para distingui-lo daquele que no tem ne 31. CHIOVENDA. Instituies... 1942, v. 1, p. 572. (p. 63) nhum interesse, tomando por base os limites subjetivos da coisa julgada, nos seguintes termos: "O critrio da expresso terceiro aqui empregada no o mesmo que se aplica quando, em referncia aos efeitos da sentena, se diz que ela alcana ou deixa de alcanar a terceiros (res inter alios)." Segundo ele, o terceiro aquele que admitido na demanda por necessidade ou convenincia processual, aps a constituio do juzo, como o autor e o ru. Carvalho Santos, a turno seu, comentando o mesmo estatuto processual,{32} no foi dissmil em seu magistrio ao afirmar que "a deciso a ser proferida em uma demanda pode interessar a terceiro que no os litigantes. De fato, a coisa, sobre a qual se contende, bem como os direitos, cuja afirmao se pede em juzo, podem estar vinculados e ter relaes com pessoas estranhas ao litgio, no sendo bastante a exclusiva presena dos dois contendores para excluir o interesse dos terceiros na controvrsia ajuizada. No podia a lei deixar de cogitar do interesse possvel
que os terceiros possam ter na soluo do litgio entre outros. Da o instituto da interveno de terceiro, que a via pela qual um terceiro, que no foi originariamente parte na lide, nela se apresenta para fazer valer seus direitos ou sustentar o de 32. SANTOS, J. M. de Carvalho. Cdigo de Processo Civil interpretado. 5. ed., Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1958, v. 2, p. 5. (p. 64) uma das partes em causa (cf. LABORI, Rp. Encycl., v. Intervention, n. 1)." 11 - A INTERVENO E AS CONDIES PARA O DESENVOLVIMENTO VALIDO E REGULAR DO PROCESSO SUPERVENIENTE J quanto as condies para o desenvolvimento vlido e regular do processo, que so qualificaes das condies para sua existncia, sobreleva ressaltar que: a) a parte interveniente seja capaz de direito e de fato, ou que tenha a sua capacidade de fato suprida por quaisquer das modalidades previstas no nosso ordenamento jurdico; b) e que ainda a sua pretenso seja juridicamente defensvel, ou que esteja nos limites da discusso do thema decidendum da ao-base, por isso que no possvel ao terceiro intervir numa relao processual preexistente em razo de certo conflito, para discutir questo que lhe seja totalmente estranha, ainda que juridicamente defensvel, mas comportvel em outra ao; muito menos possvel ao terceiro pretender ampliar as fronteiras do campo de discusso com tema que, nem neste campo nem noutro, seja possvel discutir juridicamente; c) de resto, na hiptese de interveno de terceiro, no dado ao interveniente questionar a competncia do rgo jurisdicional que j preside a relao processual anterior; no lhe possvel, ento, argir exceo de incompetncia do juzo, exclusive no caso de se tratar de pessoa que, por peculiaridades prprias e por sua natureza, modifique a competncia anterior. Tome-se como exemplo a interveno da Unio em uma disputa de terra que teve (p. 65) incio junto Justia comum: a competncia desloca-se para a Justia federal. Enfim, para o desenvolvimento vlido e regular do processo, a partir da interveno e a seu respeito, imprescindvel sejam observados os prazos, as condies e as formas estabelecidas por lei. 12 - A INTERVENO NOUTROS RAMOS DO DIREITO A interveno, conforme os diversos ramos do
Direito, tida com caracteres, contornos e fins dissmeis uns dos outros. No Direito Cambirio, por exemplo, tem-se a chamada interveno por honra, que se d quando, terceira pessoa, estranha ao ttulo apresentado a protesto que ainda no se efetivou por falta ou recusa de pagamento ou aceite, espontaneamente apresenta-se para pag-lo, sub-rogando-se, assim, os direitos do credor. No Direito Internacional Pblico, o ato pelo qual determinado Estado intervm politicamente no s nas questes interiores, mas tambm nas exteriores, de outro Estado soberano ou independente, impondo-lhe sua autoridade, modificando-lhe a conduta poltica ou a administrativa, de forma diplomtica ou pela fora. No Direito Constitucional, a interveno ocorre nos regimes federados, quando o governo central intervm no Estado integrante da federao, com o propsito determinado de garantir-lhe a soberania, a unidade nacional e a ordem poltica. No Direito Processual Civil, quadriparte-se o seu sentido-fim, por isso que ato pelo qual aquele que, no sendo parte no processo, originria ou ulteriormen- (p. 66) te, busca fazer valer direito seu eliminando o de outros; busca garantir e assegurar-se do exerccio do direito de regresso; busca afirmar sua ilegitimidade ad causam; ou efetivar no processo a solidariedade obrigacional que decorre do direito material, apoucando-a para si. Em quaisquer dos casos, aquele que se vale da interveno, por provocao ou espontaneamente, denominado de interveniente. 13 - DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA INTERVENO Doutrinariamente aponta-se a economia processual (tempo e custo do processo) e o propsito de evitar decises conflitantes como justificadores das figuras intervencionais tpicas, bem como das atpicas, e que costumam aparecer juntas embora no necessariamente sempre. Relativamente ao ngulo do aproveitamento, a economia processual questionvel, posto nem sempre beneficiar todas as partes do processo. Na nomeao autoria, por exemplo, o autor pode ser beneficiado, em nvel de economia de tempo e custo do processo, com o apontamento por parte daquele a quem ele demandou, do verdadeiro sujeito que deveria ter sido demandado. No certo, no entanto, que a mesma economia socorra ao autor no caso de denunciao da lide, no de chamamento
ao processo e, outrossim, no de oposio quanto aos opostos. A rigor, porm, os dois elementos supracitados no encerram as razes justificadoras do instituto da interveno, s mesmo as origens histricas de cada figura que fornecero uma viso cabal dos seus justicadores, como se ver nas partes que lhes so reservadas. (p. 67) Insere-se como justificadora da interveno, a questo psicossocial. A ansiedade, a expectativa, a insegurana que tomam o sujeito ao ter conhecimento de que direito seu est sendo disputado por outro ou ameaado de ser atingido, justifica a interveno. V-se, contudo, que o movere elemento jurdico. 14 - QUANTO NOMEAO DO INTERVENIENTE Reportando-nos construo pretoriana, e sob o ngulo pragmtico, deixa de ser questionvel, desde que se tem assente ser a lei que diz "quem autor, ru, opoente, assistente, terceiro, litisconsorte ativo ou passivo".{33} E tal est dito, com todas as letras, pelo legislador. 15 - DAQUADRIPARTIO DA INTERVENO Se tomamos a interveno como um fenmeno que sobrevm ao processo, cuidando de ser, a par disso, exerccio de direito processual no plano das expectativas, haveremos de encontr-la quadripartida, quanto aos seus elementos objetivos e subjetivos, da seguinte forma: a) oposio - afirmao pela negao, com extenso da relao processual ativa por sujeio ou subordinao, no plano vertical; b) nomeao autoria - eximio, com acertamento da relao processual passiva por estromissione, no plano horizontal; 33. RTJ, 101/901. (p. 68) c) denunciao da lide - regresso, com extenso da relao processual ativa ou passiva por subordinao ou sujeio, no plano horizontal ou vertical; d) chamamento ao processo - comunho, com extenso da relao processual passiva por adjuno, no plano horizontal. Acresce-se aos elementos objetivos, em dados casos, o alargamento das fronteiras do campo de aferio dos valores da questo controvertida na formao do juzo. (p. 69) (p. 70, em branco)
Captulo II - CATEGORIAS DAS FIGURAS INTERVENCIONAIS NONOMINADAS Rebuscando as categorias comuns das figuras cautelares e abstraindo-as em parte para esta temtica, identifica-se, na sistemtica processual civil ptria, figuras intervencionais nominadas, porque previstas expressamente como tais pelo legislador, quais sejam: a oposio, a denunciao da lide, a nomeao a autoria e o chamamento ao processo (como se v no Livro I, Ttulo II, Captulo VI, Sees I, II, III e IV, do Cdigo de Processo Civil), bem como um outro tanto que, no obstante constarem expressamente da previso legislativa, no tm a epgrafe de figuras intervencionais, razo pela qual podem ser tidas como no-nominadas, em face da construo legislativa, doutrinal e jurisprudencial que fizeram assim. Nesse grupo esto a assistncia, a litisconsorciao, o recurso do terceiro interessado, a parte que outra substitui (no o substituto processual como se ver), o embargo de terceiro senhor e possuidor e, inclusive, o concurso de credores. Examinemos, em sinopse, algumas das figuras no nominadas, que no constituem objetos desses estudos. 1 - QUANTO ASSISTNCIA Grande parte da doutrina tem apontado a assistncia como modalidade efetiva de interveno que, por erronia do legislador, como tal no foi titulada. A rigor, (p. 71) no s a assistncia, mas as demais figuras poderiam ter sido nominadas de intervencionais - por isso que em nada dissmeis - quanto aos elementos objetivos justificadores de suas ocorrncias, das que foram nominadas. A par disso, cuidam elas de situaes em que sujeitos distintos do que pediu e daquele em face de quem se pediu se introduzem em um dos plos da relao processual preexistente, ou se protagonizam em novo plo, com maior ou menor medida de participao nos atos do processo e sujeitos ou no s conseqncias comuns da coisa julgada. Buscou-se explicar os motivos que levaram o legislador ptrio a deixar em captulo distinto particularmente a assistncia. "Tomou-se, ento, os elementos provocativo e opoencial em contraposio ao consorciante ou coadjuvante de efeitos transdecisionais" para que a mens legislatoris restasse a salvo de maior incompreenso.{34} Srgio Bermudes, atualizando a obra de Pontes de Miranda{35} magistralmente distinguiu o adsistere do
inter venire e mais uma vez aclarou as razes pelas quais a figura da assistncia no foi inserida no captulo da interveno. O legislador processual ptrio aponta duas modalidades de assistncia uma simples outra litisconsorcial. A primeira, prevista no art. 50 do Cdigo de Processo Civil, nos seguintes termos: "Pendendo uma causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro, que tiver interesse jurdico em que a 34. PONTES DE MIRANDA. Comentrios ao Cdigo de Processo Civil, t. 2, p. 85. 35. Ibidem, p. 57. (p. 72) sentena seja favorvel a uma delas, poder intervir no processo para assisti-la." A segunda, no art. 54 do mesmo estatuto, com a seguinte redao: "Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente, toda vez que a sentena houver de influir na relao jurdica entre ele e o adversrio do assistido." Questo que se tornoQ assente, at porque a literalidade do texto legislativo no permite outra interpretao, que o interesse para intervir h de ser jurdico, excluda a possibilidade de se pretender assistir apenas firmado em interesse moral ou econmico, sem poder inadmitir que na maior das vezes no interesse jurdico esto o moral e o econmico. O assistente simples aquele que tem relao jurdica com uma das partes do processo, mas tal relao no diz respeito ao bem de vida em disputa. No entanto, tem-se por certo que a sentena a ser proferida entre as partes do processo originrio poder afetar aquela relao existente. o caso, por exemplo, do credor que toma conhecimento de que o seu devedor est sendo demandado em ao de reivindicao de imvel que, se prspera, f-lo- insolvente. Outro caso, o do locatrio que, de igual modo, busca assistir o seu locador para que no perca em ao dominial o imvel objeto da locao. O assistente litisconsorcial, contudo, aquele que tem relao jurdica com o bem de vida em disputa, mas no figura em qualquer dos plos do processo. (p. 73) Pode-se citar o caso do co-herdeiro que sabe da demanda instaurada em face do esplio e, temendo a diminuio do acervo, busca assistir o inventariante na demanda. Tambm o caso do condmino, do scio do clube.
O assistente no processo exerce uma atividade de cooperao com a parte assistida visando beneficiar exclusivamente a si prprio. Sua atuao de um coadjuvante. Eduardo J. Couture observa a necessidade de no confundir a figura do terceiro coadjuvante e as demais figuras: "La figura del tercero coadyuvante en el proceso ordinario no debe confundirse con las siguientes situaciones procesales: a) con los terceros llamados a actuar en procesos colectivos (quiebra, concurso, etc.); b) con los terceros llamados a actuar en procesos individuales de ejecucin (terceristas, en sentido genrico); c) con los terceros que actan en juicio ordinario, pero a raz de medidas de seguridad tomadas contra sus bienes; d) con los terceros llamados a actuar en proceso ordinario, segn necesidades del derecho material que se debate en el proceso (citatio auctoris, genricamente, ya sea en proceso posesorio o petitorio, en las diversas formas de la eviccin: denuncia del litigio; embargos de terceiro; tierce opposition; en las diversas legislaciones). e) Con los terceros que actan voluntariamente en forma excluyente del inters del actor y del demandado."{35} 35. COUTURE, Eduardo J. Estudios de derecho procesal civil. 3. ed., t. 3, p. 220. (p. 74) 2 - QUANTO AO RECURSO DE TERCEIRO INTERESSADO Herdamo-lo das Ordena es: "... mas podero apelar de quaisquer outros que digam ser danificados pelos ditos autos, declarando nas apelaes razo legtima e aprovada, por que deles apelam, assim como se disserem que os autos so em fraude e dano deles apelados".{37} De Joo Bonum colhe-se que essa preocupao de dar ao terceiro prejudicado um remdio contra a fraude ou coluso dos litigantes, vem do direito romano, onde expressa em diversos textos e se mantm na doutrina dos praxistas reinculas com a mesma insistncia das Ordenaes.{38} Quanto ao recurso do terceiro interessado, de que cuida o legislador processual no art. 499, 1, tem-se que seja a medida disponvel a todo aquele que no sendo parte na relao processual, mas nela podendo
intervir como terceiro nominado, qual o opoente, e no-nominado, qual o assistente, v-se prejudicado pela sentena. Ora, se na mesma demanda pode ver direito seu protegido, no se justifica o ajuizamento de outra para o mesmo fim. Esta foi a razo de ser do dispositivo. Seabra Fagundes,{39} a respeito, exerceu magistrio que merece ser transcrito: "Se algum tem interesses afetados pela sentena e se os pode defender, satisfatoriamente, na mesma 37. Livro 3, Ttulo 78, 1. 38. BONUM, Joo. Direito processual civil. So Paulo: Saraiva/Academica, 1946, p. 573. 39. FAGUNDES, Seabra. Dos recursos ordinrios em matria cvel, p. 49. (p. 75) demanda em que controvertem autor e ru, no h razo para se lhe negar essa possibilidade, obrigando-o a maior dispndio de tempo e dinheiro pela intentao de demanda especial. O objetivo bsico do direito processual a composio dos litgios com justia (segura apurao dos fatos com justia e reta aplicao da lei) e comodidade (rapidez, economia, etc). A comodidade dos interesses se atende, sem prejuzo da justa composio da lide, ao permitir-se o recurso do terceiro interessado. Ao interesse de recorrer do terceiro, todavia, contrape-se o interesse do autor e do ru no breve encerramento do pleito. O recurso do estranho prejudicado, que supe, em regra, autor e ru se hajam conformado com a sentena, reabre a demanda procrastinando a composio da lide. Enquanto pende de julgamento, perdura a incerteza em torno da relao ajuizada, com dano para as partes principais, interessadas no ver assente a sua situao jurdica. O direito de recorrer reconhecido aos terceiros assim norteado por duas consideraes opostas: a) a da economia do processo, que leva a distend-lo; e b) a da comodidade dos interessados principais, que induz a restringi-lo." 3 - QUANTO PARTE QUE OUTRA SUBSTITUI Quanto parte que outra substitui, da previso genrica dos arts. 42 e 43 do Cdigo de Processo Civil, que prevem a substituio em razo da alienao da coisa ou do direito litigioso, a ttulo particular, por ato entre vivos, ou em razo da morte de quaisquer das (p. 76) partes figurantes na relao processual, no se a pode
confundir com a figura do substituto processual. A parte que substitui a outra por alienao da coisa, ou por morte, terceiro quanto ao momento de seu ingresso na relao processual - inter venire - e assume condio de parte em substituio, tanto que aquela a quem substitui deixa o processo. O substituinte, no caso, tem relao com o bem de vida em disputa; , pois, parte no sentido material e parte no sentido processual, desde que com capacidade de fato, mas nada pediu e em razo dele nada se pediu, por isso terceiro que ulteriormente polariza-se como parte. O que pode ocorrer que a parte substituda, que deixou o processo, passa condio de terceiro nonominado e pode atuar na condio de assistente simples. No entanto, o substituto processual, do engenho de Kohler com os avanos de Chiovenda, aquele que defende em juzo, em nome prprio, direito alheio e, por isso, no obstante no tenha nenhuma relao com o bem ou com a situao controvertida em disputa, parte no sentido processual por fora da lei, de legitimao extraordinria. o caso, por exemplo, do representante do Ministrio Pblico que deduz pretenso de anulao de casamento. substituto processual, portanto parte processualmente, mas no est sujeito aos efeitos da sentena porque no-cnjuge do casamento anulando. V-se, pois, que em momento algum o substituto processual terceiro, mas a parte que outra substitui o . 4 - QUANTO AOS EMBARGOS DE TERCEIRO Pressupe ofensa ao patrimnio de quem no tem o dever de responder pelo cumprimento de determinada obrigao. (p. 77) No respeitante aos embargos de terceiro, afirmo o seu carter de ambigidade, por isso que o embargante de terceiro tanto pode agir de forma intervencional ou como parte j preexistente na relao processual. Assim que no se nega a condio de terceiro interveniente do embargante que no figura na relao processual base no seu plo passivo, como est expresso, inclusive, no texto legislado do art. 1.046 do Cdigo de Processo Civil. No entanto, o legislador, excepcionalmente, considera terceiro aquele que, sendo parte na relao processual na condio de demandado, socorre-se dos embargos para livrar de gravame processual bem que por peculiaridades jurdicas no possa por ele ser alcanado. o caso, por exemplo, da mulher casada, executada
com o marido, que embarga de terceiro para livrar o bem dotal da segregao. o que se v no 2 do artigo citado: "Equipara-se a terceiro a parte que, posto figure no processo, defende bens que, pelo ttulo de sua aquisio ou pela qualidade em que os possuir, no podem ser atingidos pela apreenso judicial." No h, nesse caso, a ulterioridade comum aos terceiros estranhos relao processual j estabelecida. Carvalho Santos, em Comentrios ao Cdigo de Processo Civil de 39, j apontava para essa figura excepcional de terceiro posto, que poca no havia expressamente tal previso legislativa. O art. 707 daquele estatuto tinha a seguinte redao: "Quem no for parte no feito e sofrer turbao ou esbulho em sua posse, ou direito, por efeito de (p. 78) penhora, depsito, arresto, seqestro, venda judicial, arrecadao, partilha ou outro ato de apreenso judicial, poder defender seus bens, por via de embargos de terceiro." Nada mais. No volume 8 da obra citada, deixou o seguinte magistrio: "Mas certo que somente quem no for parte no feito poder oferecer embargos de terceiro, como est expressamente consignado no texto supra que comentamos; convm, todavia, acentuar a necessidade de interpretar-se inteligentemente esse preceito legal. Justamente porque, muitas vezes, o prprio executado pode opor-se como terceiro, com embargos, desde que os bens apreendidos sejam seus, mas que, pela qualidade em que os possui, ou pelo ttulo de aquisio, no devam responder pela execuo."{40} Ainda sobre embargos de terceiro, colhe-se de Jorge Americano, tambm em comentrios ao Cdigo de Processo Civil pretrito, o seguinte magistrio: "A pendncia entre os litigantes no alcana a estranhos. Tal princpio, que substancialmente, exclui o terceiro dos efeitos da coisa julgada, protege-o tambm processualmente dos efeitos da demanda entre as partes, se bem que no esteja livre de ver decidir depois o seu prprio direito em modo diverso. Entretanto, no seria justo obri 40. SANTOS, J. M. de Carvalho. Comentrios ao Cdigo de Processo Civil de 1939, v. 8, p. 169. (p. 79) gar o estranho a demandar por fora aquilo que
incontestavelmente seu, e que no constitui objeto da demanda, visto que ele prprio no parte. Abrir-se-ia uma porta permanente ao conluio, a gerar demandas fictcias, tendo como nico fim a execuo sobre bem de terceiro, cujo nico remdio seria a reivindicao, com risco de no achar mais a coisa, ou de encontr-la danificada. Nem s nas demandas ilegtimas, como at nas legtimas poderia o devedor apontar bens de estranho, em face da ignorncia do credor, com dano alheio. Dai a razo dos embargos de terceiro como incidente processual."{41} 5 - QUANTO AO CONCURSO DE CREDORES A tendncia doutrinria no sentido de assentar que no se trata de figura intervencional, j que da essncia da formao do processo o surgimento do credor superveniente em face do devedor comum. certo que no possvel interpretao extensiva de texto legal para se criar figuras intervencionais. Tambm no h possibilidade de aplicao analgica e subsidiria de institutos a casos no expressamente previstos. O princpio do positivismo aplica-se s regras da interveno, sem possibilidade de ampliao, no havendo, pois, como admitir que o credor que se habilita no processo seja considerado terceiro, visto o carter de universalidade que caracterstico da ao.{42} O tema, contudo, exige consideraes. 41. AMERICANO, Jorge. Comentrios ao Cdigo de Processo Civil - Arts. 1-290. So Paulo: Saraiva/Acadmica. 1940. v. 1. (p. 80) Instaura-se a demanda e inicia-se o processo concursal. Os credores so chamados a vir ao Juzo da Falncia para apresentarem os seus crditos - fase de habilitao. D-se a a "imantao". Em razo da situao anmala surgida - a quebra -, os ttulos representativos dos dbitos do falido passam por uma anlise e avaliao da sua razo de ser, do seu para que ser, e do seu como est sendo. S depois, analisados, avaliados e aprovados, que so eles declarados hbeis para estarem no rol dos ttulos representativos da relao dbito e crdito. Veja-se: a vinda de cada credor habilitando-se na falncia equivale, quanto aos seus efeitos, a uma ao de cobrana em face do devedor. Ora, tal vinda se deu por provocao, com antecipao, inclusive, da exigibilidade dos crditos cujos termos de vencimento
ainda no haviam sido alcanados, e a provocao resultou de um processo: o falimentar. Ento, no possvel ignorar que a vinda dos credores ao juzo da falncia ocorre no curso de um processo em andamento, portanto, presente o inter venire. Os credores foram atrados no curso de. O habilitante , por essa anlise, interveniente. H, por conseqncia, a interveno. Resta agora saber se o interveniente terceiro. Terceiro no , no obstante assero dissmil de Couture. Sim, sujeito de uma relao jurdica substancial que lhe autoriza a estabelecer uma relao processual incidentalmente e por fora de lei. Defende direito prprio, no compatvel com o direito dos demais credores, sim concorrente, por isso que h uma universalidade de bens e cada qual busca satisfazer o seu direito com uma poro a ele proporcional. 42. GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. So Paulo: Saraiva, p. 134. (p. 81) 6 - QUANTO AO LITISCONSRCIO Litisconsrcio, de litis-cum-sors, que equivale juno de lides visando mesma sorte, o instituto que permite mais de uma parte tanto no plo ativo como no plo passivo ou em ambos da relao processual. Sua razo de ser, como si acontecer nas figuras intervencionais, reside na economia processual (tempo e custo) e no propsito de evitar decises conflitantes, a par de razes sociolgicas. Quanto s suas modalidades, pode ele ser ativo, quando se d no plo ativo da relao processual; passivo, quando se d no plo passivo da mesma relao; misto, quando se d nos dois plos concomitantemente; originrio ou ulterior, desde que se forme na instaurao da demanda ou aps a instaurao; simples ou uniforme, desde que a sentena proferida em casos de litisconsorciao decida diferentemente para um ou mais de um dos litisconsortes ou para todos igualmente; e pode ainda ser necessrio ou facultativo: necessrio, quando a sua formao se torna imprescindvel vida do processo, ou seja, caso no se forme, a menos que suprida a presena do sujeito por ato do juiz, o processo no pode prosperar; e facultativo, quando prescindvel a sua formao. Questo de relevo, na prtica, tem sido saber at que momento processual pode formar-se a litisconsorciao facultativa. Sou do entendimento de que ela somente se pode formar no momento da instaurao da
demanda, quer dizer, ou todos os sujeitos se apresentam de j como autores em face do demandado ou demandados, ou, ento, somente lhes restar o instituto da assistncia litisconsorcial disponvel e utilizvel durante todo o curso do processo. As figuras no-nominadas sero minudentemente abordadas em outro trabalho. (p. 82) Captulo III - PARTE 1 - COMPREENSO DO TEMA S se compreende o que seja terceiro se estiver bem firmada a compreenso do que seja parte, impondo-se, em razo disso, um estudo mais acurado a seu respeito. Lopes da Costa deu nfase importncia do conceito de parte no processo, acrescentando teoria a sua repercusso prtica na identificao da litispendncia, da conexidade subjetiva de causas, do terceiro, daquele que pode prestar depoimento pessoal, daquele que pode ser testemunha e daquele que pode recorrer. 2 - ASPECTO HISTRICO Impossvel a compreenso de qualquer figura ou instituto do direito sem a perquirio do seu ser, ou do que ; da sua relao com o homem, ou sujeito; da sua origem e do seu fim, ou para que . Tomando por base esses quatro elementos que melhor se compreender o que significa ser parte, e no s isso, mas, tambm, o significado maior do processo como instrumento de soluo de conflitos. Toda atividade cognitiva, no caso, resulta no esforo da compreenso da relao do insti- (p. 83) tuto (parte) com o sujeito (homem), dos seus aspectos ontolgico, teleolgico e pragmtico. No meu entender, a noo de parte prpria do gnero humano desde que o homem passou a lavrar a terra de que fora tomado, e est fincada na sua imperiosa natureza socializante. Por esse ngulo, parte e homem so dois termos lingsticos que designam, ento, o mesmo, quer dizer, "parte" designa o ser humano em nvel conceitual, uma categoria de anlise da cincia jurdica atual, enquanto o termo "homem" designa o ser humano em nvel concreto, o homem na sua vida, com seus interesses e conflitos. , pois, da natureza socializante do homem, que resultam os conflitos intersubjetivos de interesses exigentes de solues pelo
"julgador", desde que os sujeitos neles envolvidos no as tenham alcanado. Tal natureza socializante subentende uma interdependncia entre homens, mas no a solidariedade, j que esta foi prpria do homem notemporal. A partir do momento que se tornou um ser temporal e, com isto, um ser de conflito, a pura solidariedade cedeu lugar s relaes competitivas, uma vez que passou a viver disputando os bens da vida com o seu prprio semelhante, sendo a prpria vida o primeiro dos bens de sua maior disputa. A vida , sim, o bem maior, e todos os elementos que se somam para a sua preservao so, de igual modo, bens. Bem , por concluso, o que til realizao do ideal de vida nos planos imediatos, mediatos, materiais e imateriais, ou o que tem um fim em si mesmo - a prpria vida. A caa, a pesca, a raiz, na posse do homem primitivo, eram bens materiais consumveis. A luta por eles, a ponto de, se necessrio fosse, matar o seu semelhante, decorria, no de qualquer conceito de valor que se lhes (p. 84) podia emprestar, mas sim do quanto signicavam de indispensveis vida. O valor era tanto maior ou menor conforme o reclame de sua prpria necessidade. A busca da satisfao de suas necessidades vitais faziam-no conflitar (processo rudimentar do seu tempo) se obstaculizado fosse. Tem-se, ento, que, do ngulo historicista e da antropologia filosfica e jurdica, o homem, mesmo o da sociedade primitiva sem Estado, viveu, naturalmente, conduta de parte em nvel de relao material com determinados tipos de bens e, outrossim, processual, mesmo que poca, em razo de sua cultura, no os identificasse como tais. No havia Estado, no havia jurisdio. Havia uma sociedade natural estabelecida, enquanto cada qual no era senhor ou possuidor de nada, a no ser em razo e nos limites da satisfao de suas necessidades vitais. O elemento mvel, no princpio, era a necessidade de sobrevivncia. No existia, bvio, a parte como hoje existe: sujeito de uma relao processual cientificamente construda. Era, sim, um modelo rudimentar que se trabalhava em um processo de aculturamento que s o tempo aclarou e aperfeioou. No h presente sem passado, nem futuro sem presente, tudo se liga histria pelos elos dos dias que se passam. Resulta do que se v que, no estudo do tema e dos demais institutos e figuras comuns da cincia do direito, no possvel desassociar o homem primitivo do
homem hodierno; "os primitivos so, incontroversamente, nossos contemporneos" (Frdric Rognon), pois que s do cotejo de ambos que se conhecer a medida de evoluo do assunto a que se prope conhecer. Disse-o bem, doutra tica, Robert Redfield, ao apontar a ntima relao entre as sociedades pequenas e (p. 85) simples e as sociedades modernas. Da no ser molesto ao estudioso quando busca na histria as amarras dos institutos da cincia do direito, portanto, com acerto Ortolan: "Todo historiador deveria ser jurisconsulto, todo jurisconsulto deveria ser historiador." Reafirma-se, pois, que a figura da parte nas relaes de repercusso "jurdica" to anosa quanto o homem, mesmo que, repito, no incio, no existisse conceituao do direito, do justo, do eqitativo (Aristteles), pouco importando de quando a sua (do homem) existncia, quer seja conforme os clculos de Mortillet, de Pericot, ou mesmo at conforme os clculos bblicos baseados na antiga cronologia judaica, os quais admito: "Mortillet calCul que el origen de la Humanidad se remontaba a 230.000 240.000 aos, pero se tiene por ms acertado el Criterio de quienes lo evalan en cifras mucho mayores. Segn la ms moderna Geocronologia, este ltimo perodo interglaciar debi durar unos 60.000 aos. El docto prehisriador Prof Pericot afirm en su discurso de ingreso en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona Grandeza y Miseria de la Prehistoria que "...en todo caso hoy, no puede postularse para el hombre una antigedad sobre la Tierra menor de medio milln de aos". Estos clculos, basados en la ciencia geolgica, no son opuestos a la Revelacin, pues la Biblia no cita fecha fija de la aparicin del hombre. No obstante, algunos comentaristas han pretendido arbitrariamente sealar fechas fijas, siempre diferentes, y notoriamente inferiores a las que (p. 86) permiten calcular los modernos conocimientos geolgicos. En la antigua cronologa juda se encuentran datos sobre el tiempo de Adn, pero evidentemente certos y consderablemente dispares en los textos hebreo, samaritano y griego, como vemos a continuacin: Hebreo - Samaritano - Versin de los Setenta De Adn al Diluvio - 1.656 - 1.307 - 2.242
Del Diluvio a Abraham - 2.044 - 2.044 - 2.044 De Adn a Jess - 3.992 - 4.293 - 5.228 Tales fechas carecen de autoridad dogmtica y de precisin cientifica."{43} Conquanto seja de interesse a fixao do tempo de existncia do homem, no constitui matria de relevo para compreenso do tema; o importante a sua conduta sempre voltada a proteger os bens da sua mais estreita relao, fazendo transparecer, desde o incio, o exerccio de "direito" individual "substancial" e "processual" no-normatizado que o identificava como parte. De sua conduta, pois, ressalta uma relao de direito, cujo bem maior, imaterial, sempre foi a sua prpria vida, no obstante comumente tenha-se a liberdade como bem maior. Agora, porm, embora vida e liberdade possam obviamente ser discernveis uma da outra e 43. PENA, Jos I Ansian. Panorama histrico de la humanidad - Los hombres, los hechos y las ideias. Barcelona, 1951, p. 9-10. (p. 87) sejam passveis de opo e valorao, seu entrelaamento de tal monta, a ponto de se extrarem cinco possveis nveis de significao, seno vejamos: a) a vida , a rigor, o primeiro dos bens a ser defendido pelo homem, nela compreendendo a liberdade e todos os demais bens; b) a liberdade secunda a vida em nvel de valorao como bem; c) no se pode falar naquela sem que haja esta; d) por isso a noo que dela se tem no sentido de complementao; e) pode-se estabelecer o binmio vida-liberdade como, em escala valorativa, os dois maiores bens do anseio do homem. As formas ou modos de preserv-la tm variado ao longo da histria do homem em sociedade; o que permanece invariante, e disso que se trata aqui relevar, que sempre existiram modos ou formas de preservao, que vm a ser precisamente o prprio exerccio da condio de parte. Em qualquer ponto da histria humana, cada sujeito do conflito reunia, ento, trs condies: parte da relao de direito material, parte da relao de direito processual e juiz, prevalecendo, no fim, o mais forte. Trata-se de um ngulo rudimentar prprio dos primrdios da histria humana, tempo da autotutela, da autodefesa, em que o "direito e a justia" operavam em nveis bem elementares, despidos de um
aparato lgico e conceitual. Tempo seguido pelos tempos dos chefes, dominadores, reis, que precederam o surgimento do Estado. Vivia-se, para usar das expresses de Jean Carbonnier, uma espcie de petit droit, j (p. 88) que tudo se dava em funo de regras essenciais ordem e vida em grupo, distinto, assim, do grand droit, que decorria das leis e instituies estabelecidas, ao depois, pelo Estado. Gerhard Lenski{44} vem ao encontro dessa idia quando diz que as sociedades humanas viveram fases de vida sem Estado e com Estado: numa primeira fase, formando-se as sociedades de caadores e coletores, sociedades de horticultura simples, bem como sociedades pastoriais e de pescadores; numa segunda fase, formando-se as sociedades de horticultura avanada, sociedades agrrias, sociedades industriais, martimas e mistas, em cujo seio firmaram-se as instituies. O Estado emergente e fortalecido, aps as sociedades simples, figura controvertida relativamente sua necessidade para gerir o comportamento em sociedade e ao seu carter estruturante. Na lio de Thomas Hobbes, por exemplo, o elemento necessrio para garantir a ordem social. J a antropologia moderna prova a existncia de muitas sociedades sem Estado, sem leis escritas, sem poder burocrtico e que subsistem (os esquims, por exemplo). Os grandes socilogos do Direito, Eugen Ehrlich, Willeim Aubert e Jean Carbonnier, chegaram a sustentar que a maior parte da interao e comportamentos sociais ocorrem sem ao direta alguma do Estado: "O Estado no pois nem lgica nem historicamente necessrio para o estabelecimento e articulao das formas ou modos de interao entre os homens". No este o meu entendimento, mas o de que, desde que definido o Esta 44. LENSKI, Gerhard. Power and privilege - A theory of social strafication. 1966, p. 92. (p. 89) do, criado inclusive em razo do homem, passou-se a exercitar a justia legal e a distributiva, sem, contudo, anular a comutativa. A primeira, do homem para o Estado, a segunda, do Estado com o homem, e a terceira, do homem para com o prprio homem. No Estado, pois, em razo das exigncias do povo, esto as instituies que fazem as leis, ditas normas primrias, que tm como fim o homem e a sua segurana jurdica, e as instituies que aplicam as leis, as sanes, cujo fim, de algum modo, o mesmo homem.{45}
Para Chambliss,{46} foras sociais, polticas e pessoais exigem as instituies que fazem as leis, que so as normas, bem como exigem as instituies que aplicam as leis, que so as sanes, e o fim comum o homem. Rastreando na histria a existncia da parte, tomemos por caso o Deuteronmio, quinto livro do Pentateuco da Bblia Sagrada, apontado pelos historiadores do Processo Civil como uma das principais fontes histricas do Direito. Neste livro encontramos um modo ou forma paradigmtica de preservao da vidaliberdade, portanto, um exerccio modelar da condio de parte, pois a condio de parte est expressamente estabelecida quando Moiss, relatando o que o Senhor Deus lhe havia determinado, disse ao povo: "Tomei, pois, os cabeas de vossas tribos, homens sbios e experimentados, e os fiz cabeas sobre vs, chefes de milhares, chefes de cem, chefes de cinqenta, chefes de dez, e oficiais, segundo as vossas tribos. Nesse mesmo tempo ordenei a vossos juzes, dizendo: Ouvi a causa entre vossos 45. Cf. KELSEN, Hans. General theory of law and State. 46. CHAMBLISS. Law, order and power, 1971. (p. 90) irmos (partes), e julgai justamente entre o homem (parte) e seu irmo (parte), ou entre o estrangeiro (parte) que est com ele. No sereis parciais no juzo (parte desinteressada), ouvireis assim o pequeno (parte) como o grande (parte); no temereis a face de ningum (parte), porque o juzo de Deus; porm a causa que vos for demasiadamente diffcil fareis vir a mim, e eu a ouvirei."{47} O estabelecimento das chamadas "cidades de refgio" outro exemplo, decorrente da previso genrica feita acerca do homem na Gondio de parte envolvida em uma situao de conflito no plano exclusivamente criminal. Trs cidades eram separadas para acolher todo homem que no intencionalmente tirasse a vida de outrem. Eram cidades de proteo ao homicida culposo, j que nelas ele era livre da vingana dos outros homens. Jo homicida doloso, o que praticava o crime intencionalmente, no gozava da mesma regalia, pelo contrrio, era entregue nas mos dos seus vingadores para que fosse morto. Tanto numa como noutra situao, verifica-se a identificao do homem como parte de situao conflitada. O texto normativo tem a seguinte redao: "Trs cidades separars no meio da tua terra, que te dar o Senhor teu Deus para a possures. Preparar-te-s
o caminho, e os termos da tua terra, que te far possuir o Senhor teu Deus, dividirs em trs; e isto ser para que nelas se acolha todo homicida. Este o caso tocante ao homicida que 47. BBLIA sagrada. Deuteronrnio, 1:15-17. (p. 91) nelas se acolher, para que viva: aquele que sem o querer ferir o seu prximo, a quem no aborrecia antes (homicida culposo). Mas, havendo algum que aborrece a seu prximo, e lhe arma ciladas, e se levanta contra ele, e o fere de golpe mortal, e se acolhe a uma destas cidades, os ancios da sua cidade enviaro a tir-lo dali, e a entreg-lo na mo do vingador do sangue, para que morra (homicida doloso)."{48} Ainda tomando a mesma fonte em outro momento da vida do povo hebreu, tem-se no Rei Salomo um outro exemplar. O Rei Salomo ante duas mulheres, estas manifestamente na condio de parte, que foram sua presena, porque como monarca reunia tambm a condio de juiz, para colocarem as suas pretenses em razo de conflito surgido entre ambas, em que o bem da conflituao era uma criana. No primeiro livro dos Reis tem-se o fato minudentemente narrado: "Ento vieram duas prostitutas ao rei, e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah! senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei luz um filho. No terceiro dia depois do meu parto, tambm esta mulher teve um filho. Estvamos juntas; nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente ns ambas estvamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se meia-noite, e, enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braos; e a seu filho morto deitou 48. BBLIA sagrada. Deuteronmio, 19: 2-4 e 11-12. (p. 92) o nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto; mas, reparando nele pela manh, eis que no era o filho que eu dera a luz. Ento disse a outra mulher: no, mas o vivo meu filho, o teu o morto. Porm esta disse: no, o morto teu filho, o meu o vivo. Assim falaram perante o rei. Ento disse o rei: esta diz: este que vive meu filho, e teu filho o morto; e esta outra diz: no, o morto teu filho, o meu filho o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei.
Disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma, e metade a outra. Ento a mulher, cujo filho era vivo, falou ao rei (porque o amor materno se aguou por seu filho), e disse: ah! senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porm a outra dizia: nem meu nem teu; seja dividido. Ento respondeu o rei: dai primeira o menino vivo; no o mateis, porque esta a sua me."{49} No plano exclusivamente cientfico, a deciso de Salomo est fundada no princpio da igualdade absoluta. Ainda sobre legislao de povos antigos, no propsito de identificar a figura da parte em seus textos, tem-se o Cdigo de Hamurbi, que sucedeu s leis e preceitos de Urukagina de Lagas, que tambm sucedeu ao "Cdigo" de Lipit-ISTAR de ISIN (1875-1865 a.C.); que ainda sucedeu "Coleo de Leis" do Rei UrNammu (de aproximadamente 2050-2032 a.C.); e, por 49. BBLIA sagrada. I Reis, 3:16-27. (p. 93) fim, sucedeu ao "Cdigo" do Rei Bilalama de Esnunna, que reinou no sculo XIX a.C., que aponta o awilum, como sujeito de direito e em condies de exerccio do mesmo, e que W. Rollig, citado por E. Bouzon, em O Cdigo de Hamurbi, 1975, define como "o homem livre, o cidado em pleno gozo de seus direitos". A par dos povos do Oriente Antigo, cujas culturas incluem o sistema legislativo que lhes prprio e que tiveram como mvel o homem e sua relao com as divindades, surgem os povos do Ocidente, de culturas avessas, umas mais outras menos, aos elementos msticos, metafsicos, teocrticos, tipo as vertentes positivistas, empiristas, racionalistas, quando ento passou-se a dar menos valor s coisas etreas para se viver uma realidade mais palpvel, de modo que se abriu espao para se comear a vislumbrar as linhas divisrias do direito, da moral e da religio, passando-se, pois, a tecer as estruturas conceituais dos institutos que mais tarde vieram a ser conhecidos. neste jogo de relaes conceituais e experienciais, multiformes, que a noo de parte vai sendo perfilada conforme os interesses prprios a cada povo e poca. A Lei das XII Tbuas, por exemplo, obra de dois tempos, primeiro dez e depois duas, do perodo inicial do processo civil romano, o das legis actiones, de 754 a 149 a. C, resultou da necessidade de resolver conflitos de classes em Roma, por isso que os plebeus se julgavam
prejudicados nos seus direitos ante os patrcios. Terentilio Arsa, o tribuno que props a sua criao, Postmio, Mnlio, Sulpcio, integrantes do triunvirato presidido por Apio Cludio e que se encarregaram de sua elaborao, alm do grego Hermodoro, se notabilizaram com o trabalho que desenvolveram. No se pode (p. 94) olvidar, contudo, da colaborao helenstica emprestada por Slon na concluso da obra, uma vez que, por aquele tempo, j emergia, mesmo que de forma incipiente, o reconhecimento da importncia do Direito Comparado, que sculos e sculos depois (1869), veio a eclodir na Frana com a criao da Sociedade de Legislao Comparada, e na Inglaterra, em Oxford, com a criao da cadeira de Direito Comparado, nominada de Historical and Comparative Jurisprudence, confiada ao Sir Henry Summer Maine, enquanto que, na Blgica, no mesmo ano, fundava-se a Revue de Droit International et de Droit Compar.{50} A Lei das XII Tbuas surgiu para proteger os direitos que estavam sendo postergados, dos plebeus, portanto, partes de relao de direito material. do ngulo exclusivamente processual, ainda entre os romanos, de onde surgiu o Direito Processual Civil com os contornos hodiernos de direito publicista, o sujeito no exerccio da in ius vocatio, do igitur in capito e do abtorto collo, agia como parte de uma relao processual em nvel de justia privada. Perodo da realeza romana em que se assentou a primeira fase do seu processo civil denominada legis actiones (aes da lei), de 754 at 149 a. C., seguido do perodo per formulas, de 149 a.C. a 342 d. C., tambm de justia privada, e perodo da cognitio extraordinaria, de 342 d.C. em diante, quando se iniciou a justia pblica. Admite-se que Thomasius, do Iluminismo do seculo XVII, tenha sido o precursor da distino entre direito e moral, cuja idia foi desenvolvida, posterior 50. Cf. ANCEL, Marc. Utilidade e mtodos do direito comparado. Trad. Srgio Jos Porto. (p. 95) mente, por Immanuel Kant. O ponto central da diferenciao residiu, precisamente, na coercitividade do direito e na no-coercitividade da moral. A noo de parte "nas relaes jurdicas materiais e processuais" aperfeioou-se ao longo do tempo, deixando para traz o homem como parte de uma "relao processual" em que sofria os juzos das divindades, o chamado tempo das Ordlias, e o tempo da
justia com as prprias mos, os quais compreenderam os perodos primitivo do direito e o perodo primitivo do direito romano e do direito romano barbrico, at alcanar o judicialista, seguido do prtico e do procedimentalista, e chegar ao processualismo cientfico ou perodo moderno. O avano cultural das conceituaes dos elementos subjetivos do processo fez com que, aps a Revoluo Francesa, quando do Code de Procdure Civile, de Napoleo Bonaparte, de 10 de janeiro de 1807, a noo de parte resultasse mais de uma reflexo cientfica do que da vontade consciente, do querer, j que se inaugurava a fase dita procedimentalista, de origens poltica (Revoluo Francesa) e jurdica, que deixava no tempo, com reflexos inegveis no futuro, alm das legislaes antigas, os ps-glosadores, os glosadores, o processo romano-barbrico, alm dos trs primeiros perodos do mais anoso processo civil romano, o das legis actiones, o das perfrmulas e o da extraordinaria cognitio. O processualismo cientfico do sculo XIX, que sucedeu ao procedimentalismo, por exemplo, teve em Josef Kohler o ensino de que o processo tratava de uma relao jurdica entre partes e que nela o juiz no tinha nenhum interesse. Os limites entre parte interessada e parte desinteressada se aclaravam. (p. 96) Hoje, quando se estuda o tema, cuida-se de distinguir e separar, de pronto, a parte da relao de direito que conferido ao indivduo - da ordem do direito privado -, da relao de direito que reconhecido ao indivduo - da ordem do direito pblico -, por isso subjetivo pblico. Deste resulta a ao e o processo que o instrumentaliza. Neste, sobressaem como seus elementos subjetivos o juiz, como parte desinteressada, e os protagonistas da situao conflitada, como partes interessadas. Para alguns, ao juiz toca determinada medida de interesse no processo, desde que se saiba do seu propsito de pr fim demanda com o exerccio do seu trabalho cognitivo que se materializa e se consuma na sentena. Na verdade no o . O interesse dito aqui o que decorre da relao com o bem de vida em disputa ou, ento, de determinao legal. O que h, no concernente ao juiz no processo, mais dever, em razo da funo, que interesse. o dever de uma prestao jurisdicional clere; o dever de dispensar tratamento igual s partes; o dever de defender a jurisdio. Pode-se dizer que o seu interesse est na ordem social que dos seus atos resulta; nela est a medida de
legitimidade dos seus juzos. O que convm, pois, ao caso, so as partes interessadas. Diz-se parte da lide aquela que tem relao com o bem de vida em disputa, portanto aquela sobre a qual ho de recair os efeitos da sentena. Diz-se parte do processo aquela que figura na relao processual com ou sem vnculo com o bem de vida objeto da controverso. A ltima hiptese comum da susbtituio processual. Carnelutti diz que uma lide, posto que um conflito intersubjetivo de interesses, tem necessariamente dois sujeitos e cada um deles toma o nome de parte. Convm-nos defini-la. (p. 97) prdiga a distino de conceitos dos doutrinadores nas diversas fases da histria do Processo Civil. Tomemos dos praxistas as seguintes definies: Pereira e Souza disse que autor a pessoa que pede em juzo que se lhe d, ou faa alguma coisa, ou que se lhe julgue algum direito.{51} Teixeira de Freitas, adaptando ao Foro do Brasil as Primeiras Linhas de Pereira e Souza, foi mais sucinto, sem, contudo, deixar de adentrar-se em minudncias que os demais praxistas no perceberam. Ao definir autor, disse-o nos seguintes termos: "Autor, no tratandose de autoria, a pessoa do Juzo, que nelle figra demandando". Em matria de autoria, autor o que chamado a juzo para tomar a defesa da ao.{52} Lobo{53} cuidou mais da definio de autor no juzo recproco, por isso que dele se colhe que "no juzo da manuteno um e outro litigante so mtua e respectivamente A. e R., ainda que quanto a ordem se reputa A. o que primeiro veio a juzo." Baro de Ramalho, seguindo Lobo,{54} inclui na sua definio de autor a noo de litigantes recprocos, nos seguintes termos: "Diz-se autor aquelle que comparece em juzo pedindo que se declare um direito contestado. Nos juzos recprocos, assim como no da manu 51. PEREIRA E SOUZA. Primeiras linhas sobre o processo civil. Lisboa, 1858, Cap. 3, t. I, 40, p. 28. 52. PEREIRA E SOUZA. Primeiras linhas sobre o processo civil, acomodadas ao fro do Brasil, 1907, Cap. 3, 32, p. 31. 53. LOBO. Segundas linhas sobre o processo civil. 1868, Cap. 3, parte 1, nota 89. 54. RAMALHO, Baro de. Praxe brasileira, 1904, Cap. 3, 42, p. 56. (p. 98)
teno, familiae ercisciundae de contas e outras, ambos os litigantes so mutuamente autores e rus; e por isso aquelle que primeiro veiu a juzo, no obstante conservar o nome de autor, pde ser condenado independente de reconveno." Joo Monteiro{55} diz: "Chama-se auctor aquelle que, por meio de aco, pede que se lhe reconhea um direito." Joo Mendes de Almeida Jnior,{56} no dessemelhante, diz que "autor (de actore agens) a pessoa que pede em juzo que se lhe d ou faa alguma coisa, ou que se lhe julgue algum direito." Liebman{57} diz da distino que h, no Cdigo Civil italiano, entre a capacidade jurdica e a capacidade de obrar: "La capacidad jurdica es la idoneidad para ser sujeto de derecho: a ella corresponde lgicamente la idoneidad para ser parte en un proceso (capacidad para ser parte) la cual corresponde a todas as personas fsicas y jurdicas y adems a algunas colectividades organizadas y patrimonios autnomos, si bien a ellos la ley no les reconozca la verdadera personalidad jurdica: las asociaciones no reconocidas [...], los comits de socorro o de beneficencia o promotores de obras pblicas o de festejos [...], la herencia yacente [...], el condominio de edificios [...], las sociedades comerciales aun carentes de personalidad jurdica, la quiebra, etc." 55. MONTEIRO, Joo. Processo civil e comercial, 1925, p. 209. 56. ALMEIDA JNIOR, Joo Mendes de. Direito judicirio brasileiro, p. 94. 57. LIEBMAN. Manual..., cit., p. 67. (p. 99) "La capacidad de obrar consiste en ellibre ejercicio de los propios derechos y, por consiguiente, en la capacidad de realizar actos jurdicos [...]: a ella corresponde la capacidad procesal, o sea, la capacidad de estar en juicio por s y de cumplir vlidamente los actos procesales; y corresponde a las personas que tienen el libre ejercicio de los derechos y, por eso, a todas as personas fsicas que han alcanzado la mayoredad...." "La capacidad procesal es una cualidad intrnseca, natural, de la persona; a ella corresponde, en el plano jurdico, la posibilidad de ejercitar
vlidamente los derechos procesales inherentes a la persona. Esta posibilidad se llama, segn una antigua terminologia, legitimacin formal (legitimatio ad procesum) que no debe confundirse con la legitimatio ad causam, que es la legitimacin para accionar" Hugo Alsina{58} ensina: "En todo proceso intervienen dos partes: una que pretende en nombre propio o en cuyo nombre se pretende la actuacin de una norma legal, por lo cual se le lama actora, y otra frente a la cual esa 58. ALSINA, Hugo. Tratado terico prctico de derecho procesal civil y comercial, 1963, t. 1, p. 471-472. (p. 100) actuacin es exigida, por lo que se le llama demandada." De Leo Rosenberg{59} extrai-se o ensino de que "partes en el proceso civil son aquellas personas que solitan y contra las que se solicita, en nombre propio, la tutela jurdica estatal, en particular la sentencia y la ejecucin forzosa. Este concepto del derecho procesal alemn (nico decisivo) es independiente de la estructura del derecho material y de la posicin jurdica extraprocesal de los interessados. Porque no se es parte en el proceso civil como titular de la relacin jurdica controvertida, sino actor es quien afirma el derecho (material); y demandado, aquel contra quien se lo hace valer Para la posicin de parte procesal no tiene importancia si el actor es el poseedor del derecho y si el demandado es el verdadero obligado o afectado. Muchas veces, de acuerdo con el derecho material, estn facultados para la gestin procesal y son partes personas distintas de los portadores del derecho o de la relacin jurdica controvertidos". "Para la eficaz gestin del proceso deben tener las partes las siguientes cualidades: 1. la capacidad de parte; es decir, la capacidad jurdi 59. ROSENBERG, Leo. Tratado de derecho procesal civil. Trad. de Angela Romera Vera. Buenos Aires: Ejea, 1955, t. 1, p. 211, 219. (p. 101) ca procesal; 2. la capacidad procesal; es decir, la capacidad de actuacin procesal; 3. la capacidad de postulacin; es decir, la capacidad para dar a la actuacin procesal la forma jurdicamente importante." Adolfo Schnke, por seu turno, define partes como
"las personas por las cuales o contra las cuales se pide en nombre propio la tutela jurdica. Las partes son, por regla general, al mismo tiempo los sujetos del derecho o deber discutidos, mas tambin puede un tercero estar facultado para seguir en nombre propio un proceso sobre relaciones jurdicas ajenas; as, por ejemplo, el marido sobre bienes aportados por la mujer al matrimonio. En este caso, el tercero ser parte. El concepto de parte es, en consecuencia, meramente formal; y no necesita coincidir con la titularidad de la relacin jurdica controvertida".{60} At aqui, tem-se feito maior referncia parte pessoa fsica, natural; ocorre, contudo, que existem tambm as pessoas jurdicas, ou "corpos morais", aos quais reconhece-se existncia especial, com personalidade jurdica. Como se trata de corpos exclusivamente morais, impe-se conhecer como estes far-se-o presentados em juzo, uma vez que, de natureza imaterial, so tambm capazes de direitos e de obrigaes, portanto, passveis de estarem envolvidos, como 60. SCHNKE, Adolfo. Derecho procesal civil. Traduccin espaiiola de la quinta edicin alemana. Barcelona: Bosch, 1950, p. 85. (p. 102) si acontecer com as pessoas fsicas, em conflitos intersubjetivos de interesses. No caso das pessoas jurdicas, dos "corpos morais", a atuao em juzo se d no de forma to simples como a das pessoas fsicas, mas, sim, de forma mais complexa; por isso que, em dados casos, no basta reunir as condies de ao, quais o interesse, a legitimidade e a possibilidade jurdica do pedido, mas, tambm, exige-se a deliberao ou autorizao necessria de uma assemblia, de um conselho, ou de quem, individual ou pluramemente, tenha poderes para deliberar ou autorizar, a par das deliberaes ou autorizaes j constantes em contratos, estatutos, regimentos e leis. Assim que o nosso ordenamento processual civil, portanto, no plano da legalidade, j assentou que a Unio, os Estados, o Distrito Federal e os Territrios, sero representados em juzo, ativa e passivamente, por seus Procuradores; o Municpio, por seu Prefeito ou procurador; a massa falida, pelo sndico; a herana jacente ou vacante, por seu curador; o esplio, pelo inventariante; as pessoas jurdicas, por quem os respectivos estatutos designarem, ou, no os designando, por
seus diretores; as sociedades sem personalidade jurdica, pela pessoa a quem couber a administrao dos seus bens; a pessoa jurdica estrangeira, pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agncia ou sucursal aberta ou instalada no Brasil; o condomnio, pelo administrador ou pelo sndico (art. 12, CPC). 3 - O CONCEITO DE PARTE DO AUTOR Parte todo aquele que (por si ou por outrem), designada e determinadamente, originria ou ulterior- (p. 103) mente, figura na relao processual contenciosa, quer no plo ativo, quer no plo passivo, com ou sem interesse e legitimidade. 3.1 - Explicitao do conceito Parte todo aquele... Parte todo aquele que esteja no gozo e em condies de exerccio dos direitos comuns do homem, ou, no estando em condies de exerccio, esteja com esta capacidade suprida por quaisquer das modalidades previstas em lei. Pretende-se aqui distinguir o sentido de capacidade de direito ou gozo de direito da capacidade do seu exerccio ou capacidade de fato, e como se do suas interaes no plano processual contencioso. A figurao da parte na relao processual contenciosa consiste de dois elementos, um elemento invariante, o gozo de direitos, e o elemento varivel, a capacidade de exerccio de direitos. O gozo de direitos comum da espcie humana; ter capacidade para adquiri-los todo homem a tem, inclusive o amental. Este elemento invariante no , no momento, problematizvel, de modo que impende nele nos determos. J o exerccio de direitos, por sua vez, que significa ter capacidade para exercitar os direitos adquiridos, nem todo homem o tem; este elemento varivel, a contrario sensu, impe a problematizao. No elemento varivel so distinguveis trs gradaes: capacidade plena, incapacidade relativa e incapacidade absoluta. A capacidade plena o resultado da somatria da capacidade de gozo (elemento invariante) e de fato so dois elementos positivos. A (p. 104) incapacidade relativa o resultado da somatria da capacidade de gozo (elemento invariante) e parte da capacidade de fato, um elemento positivo e outro negativo em parte, porque atesta a sua inexistncia em medida. A
incapacidade absoluta o resultado da somatria da capacidade de gozo (elemento invariante) e o todo da capacidade de fato, um elemento positivo e outro negativo no todo, porque atesta a sua total inexistncia. O elemento invariante da capacidade plena prprio do gnero humano. A capacidade de fato que lhe concernente resulta de fato natural, da cronologia do homem, do seu tempo, por isso se d, por fora da lei, aos 21 anos; ou resulta de atos de vontade, quais a concesso do pai, ou, se for morto, da me, e por sentena do juiz, do casamento, do exerccio de emprego pblico efetivo, da colao de grau cientfico em curso de ensino superior e do estabelecimento civil ou comercial, com economia prpria (art. 9, I a V, do Cdigo Civil). O elemento invariante da incapacidade relativa, de igual modo, prprio do gnero humano. A incapacidade de fato que lhe concernente, a turno seu, existe em certa medida e resulta de fato natural, qual seja: o cronolgico (mais que 16 anos e menos que 21); resulta ainda de um fator sociocultural anmalo (prodigalidade) e de um fator sociocultural (silvcula no adaptado civilizao, do pas). O elemento invariante da incapacidade absoluta, por fim, , tambm, prprio do gnero humano. A incapacidade de fato que lhe concernente e de medida totalitria, resulta de fato natural cronolgico (menor de 16 anos), de tipos patolgicos (loucos de todo o (p. 105) gnero), de situaes anmalas (surdos-mudos que no puderem exprimir a sua vontade), e de elemento circunstancial (a ausncia). No processo, como parte, o sujeito plenamente capaz se faz presentado por si s. O relativamente incapaz, por si e acompanhado por quem houver de assistilo, exclusive nas situaes concernentes a atos ilcitos em que for culpado, posto que nestas ele equiparado ao plenamente capaz, prescindindo, pois, de assistente (art. 156 do CC). O absolutamente incapaz no se faz presente por si, mas unicamente por representante seu. ... que, designada e determinadamente, originria ou ulteriormente... Bem, vista a amplitude da expresso "todo aquele", da definio que se cuida, impe-se a compreenso da extenso do significado dos termos designada e determinadamente, originria ou ulteriormente. Quanto aos dois primeiros, designada e determinadamente,
Leo Rosenberg deixou salutar assertiva no sentido de que "as partes devem sempre ser determinadas e designadas individualmente. No possvel um processo a favor ou contra um "desconhecido" ou de "quem corresponda"; uma demanda assim estabelecida deve ser rejeitada por improcedente".{61} Quanto aos dois seguintes, originria ou ulteriormente, de se ressaltar que a parte a razo ontolgica e teleolgica do processo, por ela o processo se inicia e em razo dela se consuma. Aquela, ento, que deduz a 61. ROSENBERG, Leo. Op. cit., p. 220. (p. 106) pretenso inicial e aquela em face de quem se deduz so consideradas partes originrias. originria, ainda, aquela que, mesmo no figurando na polarizao ativa ou passiva, se junta preexistente que lhe correspondente, em aditamento corretivo inicial ou resposta por se tratar de litisconsorciao necessria olvidada. ulterior quela que se insere em quaisquer dos plos da relao processual aps deduzida a pretenso e mesmo aps instaurada a lide com a resposta, seja por litisconsorciao facultativa uniforme, por aquisio do bem objeto do conflito, por denunciao da lide, por oposio, pelo chamamento ao processo, por nomeao autoria, ou seja at mesmo por qualquer outro meio processualmente permitido em razo de interesses decorrentes da situao jurdica conflitada. Por isso no de todo aceitvel afirmar que parte o que pede e aquele em face de quem se pede. Nem sempre assim, j que possvel tornar-se parte, como se v, aquele que no pediu e aquele em face de quem nada se pediu. ... figura na relao processual contenciosa... Parte, objeto deste estudo, a que concerne ao conflito intersubjetivo de interesses e do processo, e que tem a expectao de um comando sentencial emergente que lhe diga o melhor direito. No outra - por isso que se distingue parte da relao de direito material pura e simplesmente, no conflitada, e parte da relao de direito processual. imprescindvel referir-se a uma situao adequada jurisdio contenciosa, uma vez que najurisdio voluntria no h parte, mas interessado. Convm esclarecer que parte e interessado so duas noes do direito que esto no mesmo nvel relativamente jurisdi(p. 107) o contenciosa e jurisdio voluntria, indiferenciandose em nvel do direito material. ... com ou sem interesse e legitimidade.
Para que o interesse seja de natureza processual, condio necessria que o mesmo esteja vinculado a uma situao jurdica conflitada ensejadora de ao, preciso que haja uma relao objetivamente razovel, porquanto o interesse vulgo sensu est ligado a uma pluralidade de aes sociais que no tm carter jurdico. A legitimatio ad causam, de carter subjetivo, uma seqncia lgica do interesse, por isso que s tem legitimidade para a causa aquele que tem interesse processual, havendo, pois, uma mtua implicao entre ambos, salvo no caso de legitimao extraordinria, em que a lei confere legitimidade para agir a quem no titular, mesmo que em tese, do direito afirmado. Para que a ao seja proposta ou contestada, preciso que haja interesse processual e legitimatio ad causam. Os conflitos entre homens, as relaes conflituosas entre os sujeitos e os bens, ocorrem no plano da realidade emprico-social-objetiva e requerem como soluo uma ao especial, da parte interessada, dissmil da pluralidade das aes identificveis no tecido social. O que est se entendendo aqui por "ao especial" resulta da acepo objetiva do termo e corresponde ao que Joo Monteiro{62} descreve como "o ato pelo qual se invoca o ofcio do juiz para que afirme a existncia de uma relao de direito contestada ou simplesmente ameaada". 62. MONTEIRO, Joo. Teoria do processo civil. 6. ed., 1956, v. 1, p. 71. (p. 108) Nessas situaes conflitadas exsurgentes da relao de direito objetivo material, sobressaem-se quatro elementos distintos: o primeiro, denominado sujeito ativo, aquele que provoca a jurisdio; o segundo, denominado termo, ou sujeito passivo, aquele em face de quem se provoca; o terceiro, denominado bem, ou situao jurdica controvertida, que se constitui na razo do conflito; o quarto, denominado ttulo, resulta do bem ou da situao jurdica controvertida, que enseja o ttico direito do sujeito ativo e a ttica obrigao do termo, ou sujeito passivo. Tal ao especial pertence a um plano operatrio identificvel na cincia do direito j que a sua finalidade operar nessa realidade de modo a sanar o problema, desfazendo os conflitos e restabelecendo a ordem. Os requisitos de admissibilidade dessa ao situamse tambm em planos distintos, de igual modo identificveis na cincia do direito: o interesse processual e a legitima tio ad causam. O primeiro se d no plano
do direito objetivo, ao passo que o segundo, a legitimatio ad causam ou legitimidade para agir, pertence ao plano do direito subjetivo. Para melhor se comprender a evoluo da relao emprico-social-objetiva at a propositura da ao que a ao na acepo objetiva - de bom alvitre que se tenha em conta trs etapas em ordem crescente. A primeira, o estabelecimento da relao emprico-objetivomaterial: emprica por pertencer ao social, ao costume; material por tratar-se de um bem material; e objetiva por ser da ordem do direito objetivo. A segunda, o estabelecimento da relao objetivo-materialconflitada que engendra o interesse jurdico processual, diz respeito ao momento ou ao fato que objetiva o direito de ao. (p. 109) Estas duas primeiras etapas esto no plano do direito objetivo, podendo o sujeito prejudicado com a negao do seu direito fazer ou no uso da ao, esta do plano subjetivo, e que consiste na terceira e ltima etapa. O que se quer dizer aqui por ao pertencente ao plano subjetivo corresponde ao que Joo Monteiro{63} define como "a reao que a fora do direito ope ao contrria de terceiro; um movimento de reequilbrio; um remdio". Se no faz uso da legitimidade para agir - decorrente do interesse que, a turno seu, decorre da situao conflitada -, tudo fica no plano objetivo. Se o faz, exigese a perfeita identidade dos sujeitos da relao objetivomaterial-conflitada com os sujeitos da ao, que passam a ser autor e demandado; a legitimao ordinria. Exceto nos casos em que a lei autoriza o uso da ao sem tal identidade: a legitimao extraordinria. Pois bem, a relao afirmada pelo sujeito com o bem ou a situao jurdica controvertida - porque h casos em que a simples afirmao condio suficiente para faz-lo parte - nem sempre corresponde verdade real. Nessa hiptese, visto a inocorrncia da relao, o sujeito que atuou no plo ativo ou no plo passivo do processo no deixou de ser parte, mesmo no possuindo interesse e legitimidade. Diz-se, ento, parte desinteressada e parte ilegtima. J se viu que para ser parte impende haja legitimatio ad causam, contudo, para ser parte legtima, "s o ser o sujeito processual que tambm for titular de um dos interesses em lide, ou, ento, 63. MONTEIRO, Joo. Processo civil e comercial. 4. ed.,
1925, v. 1, p. 72. (p. 110) que possa excepcionalmente estar em juzo para defender em nome prprio o interesse de outrem. Parte legtima aquela que tem direito a uma deciso sobre o mrito da causa. Trata-se de conceito situado entre o de parte no sentido processual e o de parte vencedora".{64} Feitas as distines entre parte legtima e interessada, de legitimao ordinria; parte ilegtima e desinteressada; parte que, no obstante sem relao com o bem ou a situao jurdica controvertida, tem autorizao legal para atuar como tal, de legitimao extraordinria; conclui-se que da primeira e da terceira saem a parte vencedora e a parte vencida, enquanto que na segunda no se d essa situao de xito e no-xito processual, porquanto o processo julgado extinto sem apreciao do mrito da causa. No se pode desprezar, na conceituao de parte no processo, a certeza de inexistncia de qualquer interligao com o direito substantivo. O que se cuidou aqui foi explicitar uma conceituao pragmtica de parte que, por fim, embora no pensamento de Liebman se vejam imbutidos os elementos tico e moral, resultou harmnica com ele, j que somente s "justas partes" que se reserva a possibilidade de ser vencedora ou vencida no processo. Para Liebman,{65} "a determinao do conceito de parte no tem nenhuma relao com o problema da legitimao 64. MARQUES, Jos Frederico. Instituies ..., v. 2, p. 171 et seq. 65. LIEBMAN. Manual ..., p. 66. (p. 111) para acionar. Este problema consiste na identificao das justas partes, os legtimos contraditores; so partes no processo aqueles que de direito so sujeitos do mesmo". 3.2 - Como se perfaz o status de parte O homem capaz, genericamente, est apto para adquirir e exercitar direito, por isso pode ser parte. O incapaz, absoluta ou relativamente, adquire direitos, mas no pode exercit-los, por isso, enquanto no representados ou assistidos, no podem ser partes. Se representados ou assistidos, passam a dispor dos dois elementos formadores do status de parte: capacidade de direito (elemento invariante), que lhes comum, e capacidade de fato (elemento varivel), que lhes foi
acrescida. preciso que se compreenda os institutos do Direito primeiramente pelo ngulo de sua generalidade, depois, pelo ngulo de sua excepcionalidade. Genericamente, a noo de parte a do homem que, alm da capacidade de direito, tambm tem capacidade de fato. Excepcionalmente a daquele a quem falta a capacidade de fato, dada a impossibilidade de ser postergada a sua capacidade de direito. Todavia, imprescindvel deixar-se assente a inadmissibilidade no processo, na condio de parte, daquele que no tenha, mesmo que teticamente, ou que o esteja afirmando, relao com o bem de vida em disputa ou com a situao jurdica controvertida. No importa seja menor impbere. pbere, amental, surdo-mudo, que no possa exprimir sua vontade, silvcula ou ausente por declarao judicial. Se quaisquer deles adquiriram direitos, como parte (p. 112) atuaro, contudo, sempre com ou atravs de outrem que se expresse. O legislador civil ptrio apresenta os seguintes definidores daquilo que denominamos elemento varivel da noo de parte: a capacidade plena, a incapacidade absoluta e a incapacidade relativa. No primeiro caso, homem e mulher so considerados capazes ao atingirem 21 anos completos, ou seja, preciso que se adentrem pelo 22 ano de vida. Admite-se, porm, a cessao da incapacidade antes de se completar 21 anos, por concesso do pai, ou, se for morto, da me, e por sentena do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 18 anos completos; pelo casamento; pelo exerccio de emprego pblico efetivo; pela colao de grau cientfico em curso de ensino superior; pelo estabelecimento civil ou comercial, com economia prpria. No segundo caso, diz-se de incapacidade absoluta os menores de 16 anos; os loucos de todo o gnero; os surdos-mudos, que no puderem exprimir a sua vontade e os ausentes, declarados tais por ato do juiz. No terceiro caso, diz-se de incapacidade relativa, os maiores de 16 anos e menores de 21 anos; os prdigos e os silvcolas. preciso que se distinga o que seja a capacidade para estar em juzo e a capacidade para o exerccio de atos imprescindveis estada e inerentes a ela. Estar em juzo direito subjetivo que pertence a todos, enquanto que, para estar e praticar atos que decorrem dessa estada, necessria a capacidade de fato. Como se viu, no caso dos absolutamente incapazes, podem eles estar em juzo, porm unicamente atravs de seus
representantes, que, possuidores de capacidade de fato, suprem o que naqueles falta. O estar em juzo sem representao ou assistncia, em caso de incapacidade absoluta ou relativa, faz, no (p. 113) primeiro caso, nulos os atos praticados, e, no segundo caso, ineficazes. Deve o juiz determinar a regularizao da capacitao ftica sob pena de extino do processo, visto a norma genrica do art. 82 do Cdigo Civil. Outrossim, se os atos de representao ou assistncia esto sendo exercidos por pessoa incapaz, a conduta do juiz dever ser a mesma. Liebman{66} diz que "se o juiz instrutor detecta um defeito de representao, de assistncia ou de autorizao, dever assinar um termo dentro do qual se poder regularizar a posio do incapaz". Em nvel processual, para se exercitar direito representando o incapaz ou assistindo-o, basta, na relao pai e filho, a certido de nascimento que comprove a filiao e a idade. No caso da falta dos pais, deve-se exibir o instrumento conferidor da tutela. No caso de incapacidade por qualquer patologia, deve-se exibir o instrumento comprovador da curatela. Na falta de tutor ou curador, deve o juiz nomear quem faa as suas vezes no e para o processo. possvel que haja um amental cujo processo de interdio ainda no esteja consumado. Nesse caso, sabe-se que somente ser considerado interditado aps sentena transitada em julgado que o declare como tal. A nomeao de curador para tal processo o mais aconselhvel, j que no se pode exigir que figure na relao processual algum sem capacidade para agir. Sobre a capacidade processual do amental no interditado relevante o registro da doutrina clssica, no magistrio de J.M. de Carvalho Santos, que se posicionou nos seguintes termos: "Com referncia capacidade processual do amental no interditado, em face das aes promo 66. LIEBMAN. Manual... p. 66. (p. 114) vidas ou a promover por ou contra terceiros, no podemos encobrir a gravidade da questo, de modo a conciliar a tutela protetora do amental com a salvaguarda da liberdade e capacidade humana. Nossa opinio j conhecida, fixada num meiotermo entre as doutrinas antagnicas, radicais por demasia, e no temos razes para abandon-la. Ao invs, cada vez mais arraigada se torna a nossa
crena de que a verdadeira soluo jurdica no pode ser outra seno a que defendemos. Na falta de interdio, em verdade, a presuno pela capacidade da pessoa (BORGES CARNEIRO, v. 3, 259). Exige o Cdigo Civil, a seu turno, para a decretao da interdio, a verificao da amentalidade, em processo especial, em que o interrogatrio e o exame pericial constituem elementos substanciais. Sem a sentena declaratria da interdio, portanto, no possvel privar a pessoa do direito de estar em juzo. Corolrio imediato destes princpios este outro: o amental no interditado, assim como o surdomudo tambm no interditado devem ser citados pessoalmente para a ao. Relacionada com esta concluso, temos a questo de saber se no seria nulo o processo nestas condies. No h discrdia entre os doutores no caso da sentena ser favorvel ao amental, porque no se pronuncia nunca a nulidade da deciso proferida a favor da parte, que a lei quis beneficiar com a anulao (Revista Forense, v. 39, p. 123). A dvida toda est na hiptese contrria, quando a sentena for desfavorvel ao amental. (p. 115) O Dr. Lopes da Costa assim resume a argumentao aduzida de lado a lado: "Para alguns, o processo sempre vlido. E argumentam assim: a capacidade de estar em juzo um dos elementos que provm da capacidade jurdica. A lei presume que o maior de vinte e um anos seja absolutamente capaz de citar e de ser citado. Esta faculdade faz parte de seu estado, que por motivo de insanidade mental pode ser modificado pela sentena de interdio. Mas a interdio pode somente ser promovida pelos pais, ou pelo tutor, pelo cnjuge, ou algum parente prximo e pelo Ministrio Pblico. Se todos eles se conservam inativos, o autor, requerente da citao, que no pode ser prejudicado no exerccio de seus direitos (Marini). A lei no lhe d a faculdade de promover a interdio do citando. Admitir, pois, a nulidade do processo, na ao em que foi pessoalmente citado o amental ainda no interditado, fora impedir completamente a reintegrao de um direito, porventura violado pelo ru.
De outro lado, porm, responder-se-ia com vantagem, que o princpio da perfeita igualdade entre as partes, princpio que domina todas as leis do processo, no pode sancionar o sacrifcio dos direitos do ru, de preferncia ao sacrifcio dos direitos do autor. Admitir a validade da citao do suposto incapaz, pelo fundamento de que as pessoas enumeradas no art. 447 do Cdigo Civil no promoveram a interdio necessria e por isso no pode respon- (p. 116) der o autor, punir o amental pelo descaso de seus parentes e pela falta de exao do representante do Ministrio Pblico, no cumprimento dos deveres do cargo. De modo que a lei instituiria a interdio, como medida protetora do incapaz e retiraria essa proteo por causa da negligncia das pessoas encarregadas de torn-la efetiva. Repugna o bom senso admitir a validade de um processo, em ao movida contra um indivduo completamente perturbado das faculdades mentais e cujos interesses seria totalmente sacrificados. De ambos os lados, como se v, os argumentos so ponderveis e se equivalem. A nica concluso a tirar que no se poderia adotar nenhuma dessas duas solues radicais. A soluo conciliadora dos interesses em conflito - o do autor e o do ru - ser admitir a validade da citao, mas exigir a interveno no processo de um curador especial. a soluo de Boggio, no direito processual italiano""{67} A par dessa extraordinria concluso que aponta soluo para o processo em andamento, surge questionamento para o caso de processo j findo, com sentena trnsita em julgado, em que o demandado fora um amental. Desse caso o douto processualista no cuidou. Contudo, sua possibilidade de ocorrncia indiscutvel, pois que o autor da ao pode ocultar a 67. SANTOS, J. M. de Carvalho. Cdigo de Processo Civil interpretado, v. 1, p. 276-278. (p. 117) ptolgica situao do seu demandado que, a turno seu, recebe uma citao e descomparece ao processo, fazendo-se revel. O julgador desconhece a anormalidade da parte e profere sentena julgando antecipadamente o pedido; mais tarde, quaisquer das pessoas legitimadas
para promover a sua interdio se do pelo caso j julgado. Todo o processo deve ser anulado por declaratria negativa, mesmo que j se tenha vencido o prazo de rescisria. A posio de Marini, supracitada pelo eminente processualista ptrio, no tem cabida. Ora, no se cuida de prejudicar o autor desconstituindo todo o processado atravs de ao declaratria. O que ocorre que o autor se houve com evidente m-f ao ocultar a amentalidade do demandado para com isso se beneficiar. Em situao tal dois vcios se evidenciam: a incapacidade ftica do requerido e a m-f do requerente. Todo o processo nulo de pleno direito a teor do que dispe o art. 145, I, do Cdigo Civil, sobre o qual escreveu Clvis Bevilqua: "Nulidade a declarao legal de que a determinados atos se no prendem os efeitos jurdicos normalmente produzidos por atos semelhantes. uma reao da ordem jurdica para restabelecer o equilbrio perturbado pela violao da lei. Por isso diz Slon: " uma verdadeira pena, que consiste na privao dos direitos ou vantagens que o ato teria conferido se fosse conforme a lei, e que tira todos os benefcios dele resultantes, para colocar as partes no estado em que se achavam quando foi praticado o ato ilegal. (p. 118) Essa reao mais enrgica, a nulidade de pleno direito, e o ato nulo, quando ofende princpios bsicos da ordem jurdica, garantidores dos mais valiosos interesses da coletividade. mais atenuada a reao, a nulidade sanvel e o ato apenas anulvel, quando os preceitos violados se destinam, mais particularmente, a proteger interesses individuais. Os casos do art. 145 so de nulidade de pleno direito"." 4 - QUANTO AO MOMENTO DE IDENTIFICAO DAS PARTES LEGITIMAS E INTERESSADAS A questo da legitimidade e do interesse ou no da parte no processo pode ser conhecida a qualquer momento, tanto de ofcio pelo juiz, como por provocao da parte a quem aproveita a alegao. Para Liebman, a identificao da parte pode dar-se a priori, antes da formao do processo e servir para determinar as pessoas que devero chegar a ser partes, a fim de se ter um pronunciamento sobre a questo de fundo ou
de mrito; e pode dar-se a posteriori, quando se decide se as partes so efetivamente legtimas. Se a deciso for negativa, ser uma sentena sobre o processo, extinguindoo, sem prejudicar-lhe o mrito ou o fundo. 5 - SUJEITOS DA LIDE E DO PROCESSO Diz-se parte da lide aquela que tem relao com o bem de vida em disputa, portanto aquela sobre a qual (p. 119) ho de recair os efeitos da sentena. Diz-se parte do processo aquela que figura na relao processual sem vnculo com o bem de vida disputado; o caso da substituio processual e da parte ilegtima. FranCesco Carnelutti{68} delineia com clareza tais sujeitos, nos seguintes termos: "Uma lide, posto que um conflito intersubjetivo de interesses, necessariamente tem dois sujeitos. "Cada um deles recebe o nome de partes, com o qual indica-se mais a sua posio do que sua individualidade, isto que um dos sujeitos do conflito e, portanto, faz parte dele. A noo de parte, precisamente porque prpria do conflito juridicamente relevante em geral no o da lide em particular e, portanto, comum ao direito processual e ao direito material, deve ser tambm procurada na teoria geral do direito. Posto que, como veremos, tambm recebem o nome de partes alguns dos sujeitos do processo, para denotar aos sujeitos da lide no se diz somente partes, mas tambm partes em sentido material. Certamente o nome de parte emprega-se no cdigo promiscuamente, tanto no sentido material como no sentido processual: quando, por exemplo, se fala das partes como destinatrias dos efeitos do processo, so elas os sujeitos da lide; agora, quando se fala delas como titulares de direitos ou de encargos processuais, designa-se com esse nome aos sujeitos do processo." 68. CARNELUTTI, Francesco. Instituciones del proceso civil. Trad. de Santiago Sentis Melendo. Buenos Aires: EuropaAmrica, v. 1. p. 29. (p. 120) A noo de sujeito da lide est diretamente ligada noo do sujeito capaz de direitos. O sujeito da lide , pois, o alcanado pelo efeito subjetivo da coisa julgada que simultaneamente pode tambm ser sujeito do processo. O sujeito do processo, por seu turno, pode ser tambm tanto o sujeito da lide como tambm simplesmente o
seu complemento. Os sujeitos da lide e do processo podem ser considerados parte legtima, parte ilegtima, parte originria, parte ulterior, parte singular, parte plrame, parte de direito e de fato, parte exclusivamente de direito e parte exclusivamente de fato. Os sujeitos adquirem condio de parte no processo. No pode ser doutra maneira. S se denomina parte processual aquele que instaura a demanda ou aquele em face de quem ela instaurada; aquele que substitui a parte por ato entre vivos ou em razo da morte; aquele que intervm na condio de terceiro juridicamente interessado. Findo o processo, alcanados os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, parte j no existe mais, no existe processo. Os sujeitos deixam ainda a condio de parte pela estromissione, como si acontecer na nomeao autoria duplamente aceita; pelo reconhecimento judicial da ilegitimidade ad causam e ad processum ativa ou passiva, com deciso de que no caiba mais recurso; pela morte; ou pela alienao do bem objeto da controvrsia, desde que ocorra o consentimento previsto no 1, art. 42, do Estatuto Processual. 6 - DAS OBRIGAES DAS PARTES As partes, no processo, tm obrigaes processuais que no podem ser olvidadas, pena de serem (p. 121) responsabilizadas por perdas e danos, pelos prejuzos que causarem a outrem. O Estatuto Processual ptrio estabelece, como obrigaes dos que litigam em juzo, a exposio dos fatos conforme a verdade. Anote-se, contudo, que nem sempre quando a parte sucumbe no processo tenha ela faltado com o dever da verdade. E que do seu ngulo a sua verdade existe conforme afirmada e at que ceda ante outra verdade, ou seja, a verdade da parte opsita e vitoriosa. a verdade formal que se apura no processo. Exige-se ainda que se proceda com lealdade e boa-f. Lealdade quer dizer da qualidade de quem sincero; ser sincero expressar-se sem artifcio, sem intenso de enganar, ser disposto a reconhecer a verdade mesmo em seu desfavor. Boa-f , por sua vez, o sentimento de certeza de que a ao est plenamente amparada na lei ou, pelo menos, no a est afrontando. Ainda entre as obrigaes, sobressai a imperatividade legislativa de no se formular pretenses nem se alegar defesa, ciente de que so destitudas de fundamento.
Fundamentar justificar de forma convincente, documentar, provar. mostrar a adequao do fato norma. A ausncia desse cuidado caracteriza o que se denomina de "reserva mental", porquanto identifica a indisposio de um esforo maior para trazer aos autos os elementos comprobatrios da sua verdade. Por fim, obrigao da parte no produzir provas nem praticar atos inteis ou desnecessrios declarao ou defesa do direito. vedao que, comumente, se encontra inobservada na prtica, tanto que partes h que sucumbem com suas postulaes pelas desmedidas diligncias inteis que menos aclaram e mais confundem o julgador. Em algumas vezes, em razo do pr- (p. 122) prio tcnico do direito pretender justificar, diante da parte sua defendida, os seus honorrios. Outras h, quando a emoo sobrepe-se razo, que agem com o propsito de alvejar o seu opositor desprezando a razo teleolgica da prova processual, que a de persuadir o julgador. Deve, pois, a prova estar precisamente na medida da necessidade do que se pretende provar. Na ocorrncia, ento, de conduta processual diversa do padro legal, toca ao juiz, em ateno ao princpio da celeridade e em obedincia norma expressa do art. 125,II, do Cdigo de Processo Civil, indeferir pedidos de provas minguadas de contedo probante. A prova, segundo Pereira e Souza, a alma do processo. Assim, de dever especific-la, produzi-la e conduzi-la ao seu verdadeiro fim. A par das obrigaes, h ainda a proibio do emprego de expresses injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao juiz, de ofcio ou a requerimento do ofendido, mandar risc-las. Quando as expresses injuriosas forem proferidas em defesa oral, o juiz advertir o advogado de que no as use, sob pena de lhe ser cassada a palavra. O legislador cuidou de fazer estender aos procuradores das partes tais obrigaes e proibies, j que so estes os seus porta-vozes quer pela palavra escrita ou pela palavra falada, no processo (arts. 14 e 15 do CPC). A parte responde por perdas e danos quando postula de m-f como autor, ru ou interveniente (art. 16 do CPC). O Ministro Slvio de Figueiredo Teixeira,{69} citan 69. TEIXEIRA, Slvio de Figueiredo. Cdigo de Processo Civil anotado. 5. ed., So Paulo: Saraiva, p. 14. (p. 123) do Andreas von Tuhr, diz que "No comrcio jurdico, como na vida social, h um elemento subjetivo que
informa, estrutura e vivifica todas as relaes - a boaf." E acrescenta Clvis (Cdigo Civil, art. 547): "No ao lado do que anda de m-f que se deve colocar o direito." 7 - PARTE DEMANDADA E TERCEIRO - MEDIDA DE SUJEIO OU SUBORDINAO MEDIDA DE VINCULAO Ningum obrigado a demandar, mas nem todos esto livres de serem demandados. Para alguns doutrinadores aliengenos, a parte demandada, originariamente, sofre certa medida de sujeio ou subordinao por parte do seu demandante, impondo-se-lhe duas alternativas: ou responde demanda, ou omite-se em responder. H trs modalidades de resposta: contestao, reconveno e exceo, tripartindo-se esta em dilatria, peremptria e mista. As que no extinguem o processo, mas simplesmente dilatam a sua concluso, retardando-o quanto ao fim, so as excees dilatrias, quase sempre de contedo exclusivamente processual; as que extinguem o processo, no todo ou em parte, so as excees peremptrias, quase sempre de contedo exclusivamente material; e as mistas, que tambm extinguem o processo no todo ou em parte, sempre mescla de contedo processual e material. na necessidade de responder, como decorrncia da demanda, que se instaura a sujeio da parte demandada sua demandante. A idia de sujeio se perfaz com a certeza de que a no-resposta pela parte demandada f-la (p. 124) revel, podendo, nessa condio, ter que suportar o nus da revelia com a pressuposio de serem verdadeiros os fatos contra si alegados. Revelia , pois, o desprezo que algum faz do chamado judicial, ou do nus que lhe incumbe de comparecer em juzo. Concernente carga de sujeio ou subordinao de um terceiro chamado ao processo, contudo, ela no a mesma, em alguns casos. No de nomeao autoria, por exemplo, o nomeado que no aceita a nomeao, ou cuja nomeao no aceita pelo autor da demanda, fica a salvo do processo, no obstante tenha sido chamado, no sendo objeto de nenhuma medida de sujeio ou subordinao quele que o nomeou. No me parece razovel, apesar de corrente doutrinria dissmil, que os efeitos da sentena recaiam sobre nomeado que no assumiu o plo passivo da relao processual, j que a lei lhe faculta recusar, bem como ao autor rejeit-lo.
Quanto ao chamado ao processo e ao denunciado lide, a situao configurada outra. Nessas figuras, a medida de subordinao do terceiro igual medida de sujeio ou subordinao da parte originariamente demandada. Na oposio a situao se inverte: o terceiro que impe s partes originrias maior medida de subordinao ou sujeio, tanto que, desde que ofertada a oposio, esta passa a ser prejudicial ao principal, podendo os opostos sucumbirem, no todo ou em parte. Lopez-Fragoso, citando Chiovenda e Calanwndrei, distingue a chamada ao demandado da chamada ao terceiro, admitindo que aquela um ato processual conseqente do exerccio do direito de ao, que faz constituir em parte o chamado, que passa a adquirir (p. 125) direitos e obrigaes no processo, enquanto esta, a chamada ao terceiro, por si s, no se reveste de tais caractersticas, produzindo efeitos distintos dos que so produzidos na chamada ao demandado. A propsito oportuna a citao do autor espanhol{70} quando diz: "En opinin de Chiovenda, al que sigue, en lo principal, Calamandrei, y, en nuestra patria, Gmez Orbaneja, la llamada al tercero por una delas partes de un proceso pendiente no es equiparable a la llamada del demandado al proceso. La llamada al demandado, para los autores citados, es un acto procesal concreto y particular, consecuencia del ejercicio del derecho de accin, mediante el cual se constituye en parte al lamado, adquiriendo ste una serie de concretos derechos, cargas y obligaciones. La personacin del demandado y su posterior actividad procesal constituyen una carga para el mismo, quedando sujeto, en todo caso, a los efectos del proceso en cuestin. En cambio, la llamada al tercero no reviste, por s sla, tales caractersticas; para ello se ha de acompaar la llamada, en los casos en que sea procedente, con una demanda (pretensin), bien por parte del propio llamado, bien por parte del llamante, produciendo, en otro caso, unos efectos distintos y caractersticos al acto de llamada. Sin embargo, para autores como Costa o Segni, y para la mayora doctrinal italiana, el anterior 70. ALVAREZ, Tomas Lopez-Fragoso. La intervencin de terceros o instancia de parte en el proceso civil espaol, 1990, p. 11-12. (p. 126)
planteamiento de Chiovenda no puede conpartirse, criticando la distincin que el insigne maestro italiano realiza entre simple llamada en causa y llamada con ejercicio posterior de pretensin. La simple llamada, tal y como la entiende Chiovenda, se asimila a una litisdenunciacin, es decir, a la mera notificacin al tercero de la pendencia del proceso, por lo que no cabe asignarle el efecto que para Chiovenda produce: la vinculacin del tercero a los efectos de cosa juzgada. No cabe asimilar la litisdenunciacin a la llamada en causa. La litisdenunciacin es un fenmeno procesal con unos presupuestos y efectos de la llamada al tercero. Esta ltima ha de equiparse en su naturaleza a la lamada al demandado, habiendo de entenderse que la llamada al tercero, por s misma, supone el ejercicio de una pretencin - ya sea una pretensin meramente declarativa, e, incluso, ejercitada con fundamento en una legitimacin especial, una pretensin meramente declarativa que tiene por objeto una relacin jurdica de terceros -, siendo este, en su opinin, el nico modo de poder fundamentar el efecto propio de la llamada y de cumplir su fim: la extensin al tercero llamado de los efectos de cosa juzgada. Por su parte, la mera notificacin que una parte de un proceso pendiente pueda (o deba) efectuar a un tercero, la litisdenunciacin, no produce este efecto propio de la llamada, no constituyendo tal denuncia ejercicio de pretensin alguna frente al tercero. La litisdenunciacin es un instituto procesal (y no en todo caso) que, basado en unos (p. 127) presupuestos distintos de la llamada, genera unos efectos peculiares frente al tercero notificado y diferentes de la eficacia de cosa juzgada. Sin embargo, estos efectos propios de litisdenunciacin, aun siendo distintos y con un contenido diverso que los efectos de la llamada en causa, permiten afirmar que la denuncia de la pendencia del proceso, para los supuestos en los que es utilizable tal denuncia, genera una sujecin del tercero, la cual sin la litisdenunciacin no se producira, y, por ende, da vida a una carga para el tercero, con un contenido peculiar y en correspondencia con su particular naturaleza."
A par da sujeio ou subordinao da parte originariamente demandada e de alguns terceiros, existe, outrossim, uma segunda figura que resulta da relao tripartite demandante/demandado/terceiro no processo: a vinculao. Cabe ressaltar que a sujeio ou subordinao consiste numa relao vertical, ao passo que a vinculao consiste numa relao horizontal, uma vez que no processo, mesmo atuando a parte na defesa, a sua atuao equipara-se do demandante. No h sujeio ou subordinao do ngulo da mensurabilidade operada pelo Estado, no qual as pretenses das partes so iguais, posto objetos dessa mensurao operada obediente aos princpios gerais regedores do processo, quando ento o Estado avalia a medida de direito que toca a cada parte com as suas postulaes postas no mesmo nvel, horizontal e paralelamente. Tomemos por caso a culpa recproca ou concorrente, em que os direitos e as obrigaes so mensurveis conforme os fatos, podendo chegar a um ponto mximo de partio de medidas em que a uma das partes cabe o direito no (p. 128) seu todo e outra nenhum direito. O ato de declarar o direito - mensur-lo - de uma das partes em preterio do alegado direito da outra no a torna sujeita quela. No declarar desigualmente, isto , no mensurar, est a igualdade pretendida. Tal declarao tanto pode ser em prol do demandante como, outrossim, em prol do demandado, o que equivale dizer que no processo a participao de cada qual em igualdade de condies, prevalecendo o que tiver o melhor direito. Na igualdade das partes e no dever do Estado de mensurar os direitos de suas postulaes esto nitidamente dois elementos integrantes e justificadores do due process of law que, entre ns, equivale garantia constitucional do devido processo legal. No me parece que a necessitas defensionis daquele em face de quem se postula seja um equivalente da sujeio ou subordinao, tanto que pode-se distinguir demandante e demandado apenas do ngulo da oportunidade e do tempo, do que resulta em conhecer aquele que demandou primeiro e oportunamente: o demandante. O que no demandou primeiro ser, por seu turno, demandado, com a mesma medida de interesse jurdico do seu demandante. Um pretendendo o reconhecimento do direito alegado, outro pretendendo que o mesmo direito seja negado. Sobre a medida de igualdade da ao e da defesa,
portanto, o quanto significa serem iguais demandante e demandado, Couture{71} diz que "El derecho de defensa en juicio se nos aparece, entonces, como un derecho paralelo a la accin en justicia. Si se quiere, como la accin del de 71. COUTURE. Fundamentos..., cit., p. 91. (p. 129) mandado. El actor pide justicia reclamando algo contra el demandado y ste pide justicia solicitando el rechazo de la demanda." Sendo de defesa a ao que o demandado tem contra o demandante, tem-se que se colocam eles mais em linhas de igualdade que de sujeio ou subordinao. Continuo afirmando que em certos casos a posio do demandado no a mesma; a sua posio , evidncia, desvantajosa, no pela qualidade dos fatos ou do direito que alega militarem em seu favor, sim porque no h fatos nem direitos a alegar. o caso da desapropriao, por exemplo. o caso da execuo de sentena em que o carter coercitivo da ao faz o executado estar em posio de sujeio ou subordinao. Couture{72} ensina que "La coercin permite algo que hasta el momento de la cosa juzgada o del ttulo ejecutivo era juridicamente imposible: la invasin en la esfera individual ajena y su transformacin material para dar satisfaccin a los intereses de quien ha sido declarado triunfador en la sentencia. Ya no se trata de obtener algo con el concurso del adversario, sino justamente en contra de su voluntad. Ya no se est en presencia de un obligado, como en la relacin de derecho sustancial, sino en presencia de un subjectus, de un sometido por la fuerza coercible de la sentencia." No caso de desapropriao, vencida a fase administrativa sem possibilidade de acordarem o Poder P 72. COUTURE. Fundamentos..., cit., p. 439. (p. 130) blico e o titular do bem expropriado, e passando-se fase de efetiva desapropriao judicial, evidencia-se a idia de sujeio ou subordinao que o demandante Poder Pblico - impe ao seu demandado. Sobre a desapropriao, a propsito da relao vertical que nela se estabelece, Couture{73} diz: "El judicio de expropiacin consta de dos etapas, la administrativa e la judicial, en las cuales el particular se encuentra frente al poder pblico en diversa posicin. En la etapa administratiVa, el poder pblico e el
particular se hallan en un plano de igualdad: son dos contratantes que pactan de igual a igual, mediante el juego recproco de las ofertas. Producido el acuerdo en esta etapa, no hay expropiacin sino venta. Pero fracasada la etapa administrativa, la relacin "horizontal" de igualdad se sustituye por una relacin, que llamaremos "vertical", de autoridad. Se abre entonces la via judicial de expropiacin, en la cual la autoridad mpone su designio de adquirir, aun en contra de la voluntad del propietario. Incumbe al proceso el cometido de mantener la igualdad de las dos partes, sin perjuicio de la superioridad del poder pblico en lo que atae a la facultad de expropriar". A igualdade das partes no processo afirmvel em razo da lei, porquanto a Constituio Federal diz 73. COUTURE. Fundamentos..., cit., p. 455. (p. 131) que todos so iguais perante a lei. Esta norma engendra no processo a obrigatoriedade de se dispensar s partes igual tratamento. O princpio de igualdade, tambm de isonomia, o de que as partes so iguais na relao processual, vem a ser um dos princpios gerais do Processo Civil, princpio que se impe inclusive ao juiz. (p. 132) Captulo IV - TERCEIRO 1 - CONCEITUAO Convm-nos apenas o terceiro como uma varivel especificada da temtica, isso porque o estudo, de forma generalizada, implicaria, a rigor, na "historicizao" do processo na qual haveramos de encontrar a soluo de conflitos no perodo pr-Estado, tempo da autotutela, caracterizado pela "ausncia de juiz distinto das partes e imposio da deciso por uma das partes", tambm o tempo da autocomposio cujas caractersticas predominantes eram "a desistncia, a submisso e a transao", seguido do tempo dos "rbitros"; e no perodo psEstado, que perdura com marcas distintas de evoluo e aperfeioamento conforme a poca e a cultura de cada povo, at a agoralidade.{74} Ento, cotejados os processos nos diversos perodos da histria, temos que, com os rbitros, j se fazia presente um terceiro no processo. Especificamente com o Estado, mais ainda ficou acentuada a presena do terceiro no processo, qual o prprio Estado. Este, institucionalizado e desinteressado, com
todos os seus desdobramentos: a exigncia do especialista (o advogado, institucionalizado e interessado), do escrivo, do oficial, do perito (institucionalizados e desin 74. Vide GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Teoria geral do processo. 12. ed., So Paulo; Malheiros, 1996. (p. 133) teressados), enfim, de todos aqueles que se tornaram e tornam imprescindveis ao fim do processo, que de carter eminentemente teleolgico, por isso sem um fim em si mesmo. A rigor, todos so terceiros, visto o conflito e seus restritos envolvidos. Terceiro, no entanto, de que cuida a interveno e que objeto deste estudo, todo aquele que no figura na relao processual na condio de demandante ou demandado, mas que dispe de certa medida de relao jurdica com o bem de vida ou com a situao jurdica conflitada, ou, ainda, com outro bem ou outra relao jurdica, mas que podem tanto uma como outra ser afetadas em razo da deciso judicial, o que o autoriza, por conseguinte, a ingressar no processo, voluntariamente ou por provocao. A noo de terceiro, reafirmo, se perfaz com a noo de negao. 2 - TESES importante assinalar que foram construdas trs teses distintas sobre terceiros.{75} A primeira, materialista, sustenta a inexistncia de relao do terceiro no plano do direito material; v-se que se trata de tese que sucumbe ante o carter teleolgico da interveno, uma vez que, inexistindo relao no plano do direito material, inexiste interesse jurdico e, nessa condio, em momento algum esse terceiro poder intervir; a segunda delas, chamada tese processualista, aponta o terceiro como o sujeito que no interviu no processo, mas que necessariamente tenha que intervir, inclusive para que o processo possa 75. PARRA QUIJANO. La intervencin de terceros en el proceso civil, cit., 1986, p. 27-28. (p. 134) prosseguir e chegar ao seu fim com a sentena de fundo; a terceira, tese ecltica ou intermdia, segundo a qual no possvel precisar conceitualmente o que seja terceiro, uma vez que a coisa julgada alcana, em certos casos, pessoas alheias ao processo, por isso que os italianos e os franceses admitem a oposio de terceiro para
cessar os efeitos da sentena, desde que recados sobre quem no tenha sido parte no processo. Conforme Ugo Rocco, no se pode ter em conta um terceiro indiferente relao processual pelo fato de no ser sujeito no sentido substancial, por isso que existem aqueles que so autorizados, apenas pela Lei, para o exerccio da ao. Disso resulta que os terceiros podem ser classificados conforme tenham ou no interesse no processo; conforme sejam principais (com exerccio de pretenso prpria) ou secundrios (sem exerccio de pretenso prpria) apenas coadjuvando; conforme sejam terceiro de interveno facultativa (a no-participao no processo no bice a sentena de fundo), ou interveno necessria (a no-participao no processo bice sentena de fundo); conforme sejam de participao obrigatria (por provocao da parte preexistente) ou voluntria (sem provocao alguma); conforme sejam terceiros com legitimao para a causa em razo de determinado tempo, isto , contemporaneidade e permanncia, ou em razo de determinada medida de participao, ou seja, a mensurao da atividade apenas em dada parte do objeto da demanda. 3 - RELAO DE ANTECEDENTE E CONSEQUENTE DOS ATOS PROCESSUAIS E TERCEIROS NOMINADOS Atos processuais so os que do vida, mantm, constituem e extinguem o processo. O processo um (p. 135) desenvolvimento de uma seqncia de atos das partes, dos auxiliares da justia - ordinrios ou extraordinrios - e do juiz, no obstante possa restringir-se a um ato s: das partes e do juiz, com os indispensveis praticados pelos auxiliares, qual seja, aquele em que o pedido que instaura o processo de plano indeferido, ou aquele em que as partes nele envolvidas pedem apenas que se lhes homologue o acordo de vontades. De qualquer forma, o processo uma seqncia de atos que consiste numa ordenao lgica e cronolgica de antecedente e conseqente, em cadeia. Os atos processuais se desenvolvem por impulso, ora das partes, ora do juiz. Os do juiz podem se dar por provocao ou por impulso, este, impulso oficial. A obrigatoriedade do exerccio dos atos processuais no tempo e nas quadras estabelecidas por lei, ou seja, obedecida a sua cronologia, est diretamente ligada imperiosa necessidade de que o processo chegue ao seu fim, por isso que a no-prtica do ato no tempo determinado
resulta no fenmeno processual da precluso temporal (a precluso temporal um fenomeno processual substitutivo do que no se fez), que a perda do direito de pratic-lo, enquanto o processo avana. Para Liebman, a seqncia dos atos forma uma cadeia de elos que culmina com o provimento jurisdicional do fim em o Estado diz o direito das partes: a sentena. Este , pois, o escopo imediato do processo, enquanto que o seu mediato o bem que dele resulta assegurado. O ncleo do ato processual est no exerccio do direito de ao, e no no simples direito de prtica de ato do processo, para Giovani Leonne. A princpio, os atos processuais so interna Corporis, ou seja, atos que ficam exclusivamente den- (p. 136) tro dos limites do processo, envolvendo exclusivamente as partes que dele participam. Tais limites podem ser compreendidos como os do domnio do processo. No entanto, virtualmente, admite-se que atos do processo repercutam fora dos limites do seu domnio, alcanando a terceiros, ensejando, assim, uma reao de contradomnio, quer da dos terceiros alcanados por provocao, quer dos que, sem provocao, integram a relao processual espontaneamente. Nisto se explica a interveno de terceiros no seu sentido de inter vemire. No desenvolver dos atos processuais, ocorre uma relao de antecedente e conseqente, de maneira que um se conecta ao outro, justificando-se, cada qual, mutuamente. Assim que a petio inicial - antecedente - resulta numa resposta - conseqente -, que, por seu turno, passa a um novo antecedente e resulta a novo conseqente - a rplica -, se for o caso. A somatria desses atos constitui um novo antecedente, e a audincia ou a sentena do juiz, o seu conseqente. Assim, pois, se desenvolvem os atos, inclusive as omisses das partes. certo, ento, que todos os atos e omisses dos sujeitos, das partes, do juiz, dos auxiliares de justia, nesse contexto de antecedente e conseqente, no s repercutem na esfera jurdica dos protagonistas da relao processual exclusivamente, em evidente interioridade da relao objetiva-subjetiva, como tambm na relao de partes com terceiros, com reflexo extensivo objetivo-subjetivo ou somente subjetivo, e ainda na esfera jurdica de terceiros singularmente estranhos aos atos processuais. Sobressai, da, uma relao processual jurdico-cientfica em que, na
repercusso dos seus atos, ocorrvel nos limites interio(p. 137) res e exteriores do processo, reside a razo maior da interveno de terceiros por modalidades vrias, visando, cada qual, proteger interesses efetiva ou virtualmente afetveis, direta ou indiretamente, por deciso judicial, como conseqncia final da relao antecedente-conseqente de uma srie menor ou maior de atos pretritos. 4 - A INTERVENO E O PROCESSO CIENTFICO A explicao da interveno como conseqncia de causa eminentemente jurdica aperfeioou-se no tempo em que se inaugurou o perodo do processualismo cientfico, na segunda metade do sculo XIX, que influenciou sobremodo na formao e sedimentao dos conceitos dos vrios institutos e figuras do processo, inclusive no que concerne interveno. Convm, pois, fique explicitado que a escalada do Processo Civil cientfico teve incio com Bernhard Windscheid, em 1856, com o seu trabalho sobre a actio do direito civil alemo e sua assero de que a ao era a faculdade de fazer prevalecer a prpria vontade, seguido de Theodor Muther, em 1857, que, dissentindose de Wimdscheid, sustentou ser a ao um direito exercitado perante o magistrado, o qual, por sua vez, ficava obrigado a decidir. Era o direito de quem tinha razo. Sua teoria influiu grandemente nos adeptos da teoria do direito concreto de agir. A seguir, em 1868, Oscar von Blow escreveu sobre a Teoria das Excees Dilatrias e dos Pressupostos Processuais, trabalho publicado em Giessen, no mesmo ano, por Emil Roth, dedicado a (p. 138) Rudolf von Iherimg. Da em diante, Adolf Wach, em 1885, conceitua a ao como direito pblico autnomo. Josef Kohler, a turno seu, em 1888, desenvolve a teoria da relao jurdica com a monografia O Processo como Relao Jurdica, sustentando que a ao uma relao de direito privado entre as partes, na qual o juiz no tem interesse. Na seqncia cronolgica, aps 1895, sobressaem-se com as mais notveis contribuies ao Processo Civil Cientfico, conforme as suas diversas origens, Franz Klein, na Austria; Jamnes Goldschmidt, Wilhelm Kirsch, Adolfo Schnke e Leo Rosenberg, na Alemanha; Qiuseppe Chiovenda, Framcesco Carnelutti, Piero Calamandrei, Enrico Redenti, Mauro Cappelletti, Enrico Tulio Liebman e Ugo Rocco, na Itlia; Leonardo Prietro Castro, Niceto
Alcal-Zamora y Castillo, Jaime Guasp e Victor Fairn Guilln, na Espanha; Henry Solus, Roger Perrot, Jean Vincent, Paul Cuche, Ren Morel, Franois Gorphe, na Frana; Hugo Alsina, na Argentina; Eduardo Juan Couture, no Uruguai, e Hernando Devis Echandia, na Colmbia. Ao longo desse perodo, as marcas do processo publicista foram mais acentuadas, e a concepo de ao, como direito autnomo, praticamente assentouse pacificada, enquanto que os princpios e institutos comuns do processo, nos quais se incluem a parte e terceiros, passaram a ser melhor delineados. O processo com procedimentos distintos sobressai ento como uma seqncia de atos das partes, coordenados e interligados, no mnimo dois, que se explicam um ao outro, em autntica relao lgica e cronolgica de antecedente e conseqente, como j se viu. possvel vislumbrar um mimus de cientificidade (p. 139) nessa relao lgica de atos "intraprocessuais" e "extraprocessuais" com repercusso alm dos limites do processo. Do interior para o interior e do interior para o exterior. Outro o caso dos atos praticados fora do processo, com repercusso no seu interior, como si acontecer, por exemplo, com a procurao outorgada ao advogado para fins de processo; a escritura pblica lavrada pelo tabelio, que passa a se constituir em objeto do processo; a promessa de compra e venda; o contrato de locao; o ttulo cambirio e outros. A par dos atos que repercutem do exterior para o interior, existem tambm os fatos extraprocessuais de natureza aleatria que repercurtem na mudana de rumo do processo, quais, por exemplo: o dia, a noite, o passar do homem pelo tempo (prescrio, tempo, decadncia); a situao econmica da parte; a morte; a doena; o desabamento do imvel locado; o desfazimento do bem mvel e outros. Jamnes Goldschmidt definiu atos das partes como aqueles que do vida ao processo, criando, modificando ou mesmo extinguindo a perspectiva processual. Disse-os de duas classes: postulao e constituio. Quaisquer deles com vistas no rgo de administrao da justia, nas prprias partes, ou nos terceiros, mas sempre sujeitos a atividade cognitiva de estimao judicial. Nesse particular, o juiz se vincula ao processo com interesse voltado conduo dos atos das partes
at que chegue ao ato final, de sua exclusiva competncia, a sentena, que si transparecer como objeto imediato do processo. Cada ato de parte tem um ncleo especfico que no simplesmente o exerccio de um direito no processo, mas o exerccio de um direito subjetivo constitucionalmente assegurado ao sujeito, desde que tenha (p. 140) alcanado o direito de pretenso decorrente de conflito intersubjetivo de interesses no resolvido. Liebman chegou a afirmar que os atos das partes so como "elos de uma cadeia", interligados. Do somatrio dos atos resulta o procedimento, por isso Betti definiu procedimento como ato complexo. Jaime Guasp os classificou de atos de iniciativa, atos de desenvolvimento e atos de concluso, cuja classificao aceita entre ns. Desde o conflito no resolvido at a sentena h uma intermediao de atos que se desenvolvem em cadeia numa relao lgico-cronolgica de antecedente e conseqente. Assim que do pedido resulta uma resposta ou uma conduta silente da parte demandada. Do contedo da resposta, uma rplica. Destes, uma sentena ou uma audincia. Desta, uma sentena. A sentena , pois, o resultado final de um somatrio de atos cientificamente ordenados no processo. No ato pelo qual o juiz encerra ajurisdio, porque nela continua, apreciando embargos declaratrios, recebendo ou julgando deserta a apelao e, por fim, praticando atos de execuo, portanto no ato processual que, forosamente, finda o processo, sim o procedimento. Por outro ngulo, a contrario sensu, ato que, inocorrendo quaisquer das hipteses supra, finda o processo e o procedimento. 5 - RELAO DE ANTECEDENTE E CONSEQUENTE DA SENTENA, SEUS EFEITOS, QUALIDADES E TERCEIROS Assim como todos os atos do processo movimentam-se em um universo de antecedente e conseqente, a sentena, alm do processo, ato judicial de repercus- (p. 141) so poltica, no sentido de que os seus efeitos refletem na plis com a autoridade de coisa julgada que dela resulta. Impe-se registrar que do ato sentencial resultam qualidades e efeitos. A primeira delas a sua autoridade pura e simples, como ato pblico, desde que entregue em cartrio
pelo juiz ou proferida em audincia; a sua autoridade pura e simples resulta do fato de ser ato praticado por pessoa investida de autoridade, em processo regido por princpios que salvaguardam direitos comuns do cidado. O segundo deles a sua autoridade de coisa julgada, desde que dela no caiba mais recurso, o que a faz eficaz entre as partes para as quais existiu. O terceiro a eficcia aparente, que decorre da situao em que, mesmo recursada, excute-se o ato, como que se eficaz fosse. Por fim, dela resulta os efeitos objetivos e subjetivos que compreendem a indiscutibilidade da mesma quaestio entre as mesmas partes. certo, contudo, que a sentena pode repercurtir direta ou indiretamente na esfera jurdica de quem no seja parte no processo. Tal possibilidade, que tanto se situa no plano jurdico como no psicossocial, que mais autoriza o instituto da interveno de terceiros. V-se, pois, que um dos mveis da interveno est na relao de antecedente e conseqente existente entre a sentena e o que dela pode resultar, em nvel de efeitos jurdicos, para as partes sobre as quais foi dada, e terceiros. Por isso que o legislador processual argentino explicitou que pode intervir no juzo pendente, na qualidade de parte, qualquer que seja a etapa ou a instncia em que se encontra o processo, aquele que acredite sumariamente que a sentena possa afetar seu interesse prprio. Assim que, em determinado caso, visa a interveno afirmao de direito prprio, incompatvel (p. 142) com os dos protagonistas de ao originria. a modalidade intervencional denominada de oposio. Por outra tica, a interveno busca a garantia de direito de regresso decorrente da evico. a segunda modalidade intervencional denominada denunciao da lide. De outro prisma, objetiva a interveno acertar o plo passivo da relao processual com a eximio da responsabilidade de reparao por perdas e danos, por parte do demandado na ao. a terceira modalidade intervencional denominada nomeao autoria. Em quarto lugar, a interveno tem por fim a responsabilizao de co-obrigados, com a diminuio ou eliminao da medida de obrigao solidria. a que se denomina chamamento ao processo. Das figuras intervencionais nominadas, pode-se ter a seguinte sinopse de suas causas: - oposio: afirmao de direito prprio incompatvel com o
do autor e demandado da ao originria; - nomeao autoria: acertamento do plo passivo da relao processual e eximio da responsabilidade de reparao por perdas e danos; - denunciao da lide: garantia do direito decorrente da evico, ou exerccio de direito de regresso; - chamamento ao processo: responsabilizao de co-obrigados com a diminuio ou eliminao da medida da obrigao. Das mesmas figuras tm-se tambm em sinopse os seus efeitos. Desde que ocorrida a interveno por quaisquer de suas causas, dela tambm no se aparta a idia de (p. 143) relao cientfica, por isso que sobressaem as suas conseqncias, quais sejam: - oposio: de afirmao pela negao com extenso subjetiva ativa e quadrangulao da relao processual, podendo-se chegar a uma relao piramidal. Diz-se extenso subjetiva ativa porque o opoente atua deduzindo uma pretenso prpria, ativamente. Diz-se quadrangulao da relao processual porque, por fora do instituto, ele deduzido em face do autor e ru da ao-base. Ento, permanecem autor, ru e opoente como partes interessadas, e o juiz como parte desinteressada, formando-se uma quadrangulao. No entanto, sabendo-se que pode ocorrer oposio da oposio, com sucessividade, a figura que se forma , por conseqncia, piramidal; - nomeao autoria: de negao pela afirmao, com modificao da parte do plo passivo da relao processual, desde que aceita a nomeao pelo autor da ao e pelo nomeado, dando-se, neste caso, a estromissione do nomeante. Se no aceita a nomeao ou pelo autor ou pelo nomeado, permanece o nomeante no plo passivo da relao processual; - denunciao da lide: a extenso da relao processual ativa ou passiva, no plano vertical ou horizontal, por subordinao ou adjuno. Relao processual condicionada. Exerccio de pretenso no bojo doutra ao. Diz-se extenso ativa ou passiva porque tanto o autor como o requerido podem denunciar lide. Ocorrendo a denunciao, o denunciado pode aceit-la e sustentar posio contrria ao seu denunciante, dandose, assim, uma extenso no plano ativo ou passivo, na linha vertical; tambm pode dar-se a denunciao e o (p. 144)
denunciado se litisconsorciar com o seu denunciante, ocorrendo, assim, uma extenso no plano ativo ou passivo, na linha horizontal. Pode, ainda, o denunciado aceitar a denunciao e vir a coadjuvar com o seu denunciante, com ele se ombreando na defesa do seu interesse, em linha horizontal por adjuno. Portanto, adjuno a unificao de esforos no mesmo sentido; - chamamento ao processo: ocorre a extenso da relao subjetiva passiva, valendo a sentena como ttulo executivo em favor daquele que satisfizer a dvida, para exigi-la por inteiro, do devedor principal ou de cada um dos co-devedores a sua quota, na proporo que lhes tocar. (p. 145) (p. 146, em branco) Parte Especial - FIGURAS INTERVENCIONAIS NOMINADAS NO CDIGO DE PROCESSO CIVIL (p. 147) (p. 148, em branco) Introduo O nosso legislador processual civil elencou quatro tipos ou modalidades de interveno de terceiros, como se v expressamente no Captulo VI do Cdigo de Processo Civil vigente. So elas: 1. oposio - arts. 56 - 61; 2. nomeao autoria - arts. 62 - 69; 3. denunciao da lide - arts. 70 - 76; 4. chamamento ao processo - arts. 77 - 80. No se trata, no entanto, de numerus clausus, desde que se tenha a assistncia, o recurso de terceiro interessado, a parte que outra substitui, os embargos de terceiro, o concurso de credores e o litisconsrcio como tipos intervencionais tambm, porm, nonominados. Convm-nos as figuras expressamente nominadas pelo legislador na sua previso genrica. (p. 149) (p. 150, em branco) Captulo I - OPOSIO O TEXTO DA LEI PROCESSUAL "Art. 56. Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e ru, poder, at ser proferida sentena, oferecer oposio
contra ambos. Art. 57. O opoente deduzir o seu pedido, observando os requisitos exigidos para a propositura da ao (arts. 282 e 283). Distribuda a oposio por dependncia, sero os opostos citados, na pessoa dos seus respectivos advogados, para contestar o pedido no prazo comum de quinze (15) dias. Pargrafo nico. Se o processo principal correr revelia do ru, este ser citado na forma estabelecida no Ttulo V, Captulo IV, Seo Terceira, deste Livro. Art. 58. Se um dos opostos reconhecer a procedncia do pedido, contra o outro prosseguir o opoente. Art. 59. A oposio, oferecida antes da audincia, ser apensada aos autos principais e correr simultaneamente com a ao, sendo ambas julgadas pela mesma sentena. Art. 60. Oferecida depois de iniciada a audincia, seguir a oposio o procedimento ordinrio, sen- (p. 151) do julgada sem prejuzo da causa principal. Poder o juiz, todavia, sobrestar no andamento do processo, por prazo nunca superior a noventa (90) dias, a fim de julg-la conjuntamente com a oposio. Art. 61. Cabendo ao juiz decidir simultaneamente a ao e a oposio, desta conhecer em primeiro lugar." 1 - CONCEITO Oposio a ao de que dispe terceiro para fazer valer direito seu, no todo ou em parte, sobre o bem de vida objeto de lide pendente. Diz-se-a, outrossim, interveno principal, por isso que busca o opoente direito prprio manifestamente opsito ao dos opostos: "Lintervento principale quello al quale la legge si riferisce quando prospetta lipotesi che il terzo faccia valere el suo diritto (affermato) "in confronto di tutte le parti"..."{1} A oposio uma espcie do gnero interveno voluntria. A outra espcie, da categoria das nonominadas, a assistncia. Assim, interveno voluntria gnero. 2 - HISTRICO O direito romano no conheceu a oposio em razo do excessivo formalismo informador do proces 1. MANDRIOLI. Corso di diritto processuale civile. 10. ed., Milano: G.
Giappichelli, v. 1, p. 330-331. (p. 152) so romanstico. Atilio Carlos Gonzlez chega a afirmar que "el cerrado formalismo, intrnseco y extrnseco, que informaba al derecho romano, tornaba inconcebible la injerencia de un tercero en el estadio cognoscitivo del proceso".{2} Firma-se o citado autor em Enrique Vescovi: "Desde Roma se mantiene inconcuso el principio de que los efectos del prlceso, en especial la cosa juzgada, no alcanzan a los terceros: res inter alios judicata tertius non nocet".{3} Sua origem remonta ao perodo da Idade Mdia (de 476 a 1543), quando, vencidos o perodo primitivo do Direito, dos primrdios dos tempos at o surgimento do direito romano (450 a.C.), bem como o perodo dito romano - de 450 a.C. 568 d.C. -, quando se iniciou o chamado perodo romano-barbrico - de 568 1.088 d.C. - com a queda do Imprio Romano do Ocidente.{*} Entre os barbricos o efeito da sentena transcendia s partes envolvidas no processo, por isso de efeito 2. GONZLEZ, Atilio Carlos. La intervencin voluntaria de terceros en el proceso. 1. ed., Buenos Aires: Depalma. 3. VESCOVI, Enrique. Teora general del proceso. Bogot: Temis, 9, p. 201. * Brbaros, para os romanos, eram todos os que viviam fora dos limites do Imprio Romano. Distinguem-se, entre os brbaros, os germanos - povo originrio das plancies meridionais da Escandinvia, constitudo por etnias diversificadas, como os francos, anglo-saxes, alamanos, vndalos, visigodos, ostrogodos, lombardos e outros. Nesse perodo, o direito germnico passou a impor-se com suas codificaes as mais diferenciadas, quais as dos grupos tnicos que o constituam. (p. 153) erga omnis (contra tudo, contra todos e todas as coisas). A esse carter de transcendncia das partes tambm chamou- se efeito universal da sentena, contrapondose ao efeito singular. A universalidade do alcance subjetivo da sentena devia-se ao fato de que, no sistema jurdico daquele povo, as decises proferidas nos processos deveriam ser lidas em assemblias populares, tambm chamadas Ding, e todos os que delas participavam, ou delas tomavam conhecimento, eram alcanados, ento, pelos seus efeitos.
A oposio, como figura intervencional, remonta ao tempo dos brbaros, quando terceiro, ou seja, quem no tinha sido parte no processo, se opunha, impedindo de ter sobre sio resultado de uma deciso de cujo processo no participava. Era, pois, instituto de carter eminentemente intervencional no sentido de inter venire. J o direito italiano medieval, que perdurou por aproximadamente seis sculos - entre o sculo X e o sculo XVI -, conheceu dois tipos de oposio, fazendo transparecer, assim, a assimilao de dois conceitos culturais distintos: o romano - de inadmisso da interveno - e o germnico - de plena admisso. Assim que, originariamente, quando um terceiro pretendia alegar direito seu incompatvel com o direito do primus petitor, s poderia faz-lo na forma de oposio execuo. Na fase cognitiva, era-lhe impossvel faz-lo. Posteriormente foi que o direito italiano passou a admitir que o no-figurante na relao processual intervisse deduzindo pretenso incompatvel com as preexistentes, formando, desse modo, um novo processo com, no mnimo, trs protagonistas. Nesse caso, a oposio era admitida como ao autnoma e distinta daquela que a ensejou. Era, sim, modalidade de o sujeito se (p. 154) opor aos conflitantes para defender direito seu atingvel pela deciso a ser proferida no processo em curso. O direito cannico no conheceu a figura da oposio, por isso que Couture{4} disse: "No se hallan trazas de la intervencin principal en la fase terminal del proceso romano. Se trata de una creacin de la prctica judicial laica, posterior a la legislacin cannica, como ha sido demonstrado en forma exhausiva por Weismann." Sobre o surgimento do instituto e os povos de sua origem, Lopes da Costa assinalou: "A figura da oposio criao do direito intermdio. E dela houve dois tipos: o germnico e o italiano. No primeiro, pelo conceito de que o juzo era universal, a sentena obrigando no s s partes, como a todos quantos houvessem tido notcia do litgio, num s processo se reuniam as duas aes, a ao principal e a ao de interveno, em que o terceiro era autor e rus eram as partes do outro processo. No segundo, as aes corriam em processos separados." As menes feitas ao direito germano-barbrico e ao direito italiano medieval so referncias histricas, de modo a podermos situar no tempo e no espao as
Ordenaes Filipinas, por onde iniciaremos o percurso da anlise histrico-crtica do instituto da oposio. Entre os lusitanos, as Ordenaes Filipinas, tambm conhecidas como Ordenaes do Reino - pro 4. COUTURE. Estudios..., cit., v. 3, p. 225. (p. 155) mulgadas em 11 de janeiro de 1603, por Felipe II, de Portugal, e Felipe III, da Espanha, elaboradas por Felipe I, de Portugal e Felipe III, da Espanha -, no Livro Terceiro, Ttulo XX, nmero 31, estabeleciam que: "E por quanto a opposio he como libello, cerca della se ter (quando com ella se vier) o mesmo modo de proceder, que se tem no libello. E vindo o oppoente com seus artigos de opposio a excluir assi ao autor~ como ao ro, dizendo que a cousa demandada lhe pertence, e no a cada huma das ditas partes, se os taes artigos forem offerecidos na primeira instancia, e antes de se dar lugar prova, sero logo recebidos na audiencia, e assi os mais artigos de contrariedade, replica, e treplica; e se vier com elles depois de dado lugar prova, ou no caso da appelao, ou aggravo, antes do feito ser finalmente concluso, no caso, em que per Direito com opposio possa vir, pronunciar-se-ha sobre ella per desembargo, e no sobrestar no primeiro feito, antes se ir por elle em diante, at se dar final determinao. E a opposio correr em feito apartado, e depois que o primeiro feito fr findo, se proseguir o feito da opposio contra o vencedor. E tratandose o feito perante Juiz, que per se s delle haja de conhecer, e no cabendo a causa em sua alada, no recebendo a dita opposio, no se poder appelar delle, smente se aggravar per petio ou instrumento. E em todo caso, onde no fr recebida a opposio, ser o oppoente condnado nas custas do retardamento em dobro para as partes, posto que tivesse causa de litigar." (p. 156) Peculiaridades comuns da oposio no direito germano-barbrico e no direito italiano medieval foram repassadas s Ordenaes Filipinas, contudo, em todas as pocas e ordenamentos, pontos importantes do instituto constituram-se objetos de controverso doutrinria. Uma delas esteve no definir se a oposio simplesmente figura intervencional ou se ao. Uma outra, se a oposio teria no plo passivo as duas partes da ao originria ou uma delas. Uma terceira, se a oposio excluiria as partes demandadas ou afastaria as
pretenses por elas deduzidas. 3 - AO DEOPOSIO Do ngulo do direito germano-barbrico e do direito moderno, no obstante emritas posies contrrias, o instituto da oposio apresenta-se como figura de interveno no sentido de inter venire, j que o seu pressuposto maior de existncia uma ao em andamento. A par da evidncia do carter intervencional, no se lhe pode negar o carter de ao, visto que o opoente busca fazer valer direito prprio contrrio ao direito dos opostos. , pois, interveno, de um terceiro, com carter de incidentalidade. A incidentalidade no est no fato de ser apensada aos autos do processo por onde tramita a aobase, como que resultante de conexidade de causas, mas, sim, no fato de engendrar-se no curso de uma discusso em juzo, no podendo subsistir nem antes de estabelecida a discusso e nem depois de finda a discusso, porque julgado o caso. Tm-se, ento, que uma ao de interveno incidente e proposta por algum no parte na ao-base, por isso que terceiro. No se lhe nega o carter de ao, porquanto no deixa de ser um movi- (p. 157) mento de reequilbrio das relaes jurdicas desequilibradas pelas pretenses das partes opostas diante do direito ttico do opoente. Afirmando-a uma vera ao, Joo Monteiro definiu-a como "aco de terceiro para escluir tanto o auctor como o ro. Diz-se que aco porque, como acabmos de vr, a opposio meio de defendermos judicialmente aquillo que nosso e est sendo por outro disputado; por ella invocamos o officio do juiz para que nos affirme a existncia de uma relao de direito que outros contestam , pois, verdadeira ao".{5} No dissmil Lopes da Costa: " ao, porm, a oposio. O assistente no parte, mas apenas, em certos casos (a assistncia qualificada), para certos efeitos tratado como parte. Por isso os alemes lhe chamam parte assessria (Nebenpartei). O opoente autor."{6} Em abordagem doutrinal sobre caractersticas da oposio, Jos Alberto dos Reis anota que, "sob a forma de incidente, o opoente prope uma verdadeira aco, quer dizer, atravessa-se, como
autor, num processo que est a correr entre outras 5. MONTEIRO, Joo. Teoria cit., p. 863. 6. COSTA, Alfredo de Arajo Lopes da. Da interveno de terceiros no processo civil. So Paulo: C. Teixeira, 1930. (p. 158) pessoas e, com sua aco, tem em vista fazer valer um direito prprio."{7} Oposio , pois, ao, por isso que o opoente exercita a faculdade de perseguir em juzo um direito seu. "Laction (actio) est la facult de poursuivre un droit en justice; actio est jus persequendi judicio quod sibi debetur."{8} 4 - OPOSTOS DA OPOSIO Primeiro as Ordenaes Filipinas. Admitia-se que, no caso de ao real, no plo passivo figuravam demandante e demandado, sendo ambos "excludos", por isso que o bem reclamado no seria desses litigantes originrios, mas do opoente, que o reclamava para si. No caso de ao pessoal, no plo passivo figurava o demandante da ao originria, que deveria ser "excludo", permanecendo o demandado para que sobre este recasse a deciso impondo-lhe o cumprimento do que lhe tocava cumprir visto o conflito surgido. Assim era o texto reincula: "E vindo o opoente com seus artigos de oposio a excluir ao autor como ao ru..." A Consolidao do Conselheiro Antnio Joaquim Ribas, membro do Conselho de Sua Majestade, o Imperador, aprovada pela Resoluo Imperial de 28 de dezembro de 1876, admitiu que a oposio tratava-se de instituto que exclua a "inteno" do autor e do ru a um s tempo. 7. REIS, Jos Alberto dos. Cdigo de Processo Civil lusitano. 3. ed., Coimbra: Coimbra Editora, 1948, v. 1, p. 484. 8. WETTER, P. Van. Pandectes. Paris: Librairie Gnrale de Droit et de Jurisprudence, 1909, t. 1, p. 294. (p. 159) Antes da Consolidao, contudo, com o advento do Decreto n. 737, de 25 de novembro de 1850, a corrente doutrinal dominante reagiu imperiosa necessidade de "excluso" do demandado do plo passivo da relao processual exatamente nos casos em que a ao fosse de natureza pessoal. No viam como afastar do processo aquele que deveria suportar objetivamente o resultado da deciso. O aludido decreto, no art. 118, foi expresso: "Opposio a aco do
terceiro que intervem no processo para excluir o autor e ro." Resolvendo a desinteligncia legislativa da poca, admitiu-se que a oposio podia ser proposta tanto contra o autor como contra o ru, separadamente, ou contra ambos: "Opposio he o Libello que hum terceiro frma em Juizo contra o Autor, ou contra o Ro, ou juntamente contra ambos."{9} Tinha-se, ento, que tanto podia a oposio vir em face de uma s parte oposta ou em face de ambas. No ltimo caso, dizia-se em litisconsorciao passiva. Para uns, necessria; para outros, quase-necessria; para outros, excepcional; para outros, sui generis. Entendimento equvoco. Acomodando ao Foro do Brasil as Primeiras Linhas de Pereira e Souza sobre o processo civil, Augusto Teixeira de Freitas foi fiel ao advogado lusitano, mantendo-se na mesma linha de raciocnio originariamente traada: "Opposio o acto escripto e, articulado, plo qual um terciro excle, ou ao Autr, ou ao Ro, ou ambos, na Aco ordinria entre stes."{10} 9. PEREIRA E SOUZA, Joaquim Jos Caetano. Primeiras linhas sobre o processo civil. Lisboa, 1858, t. 1, 154, p. 116. 10. PEREIRA E SOUZA, Joaquim Jos Caetano. Op. cit., 175, p. 134. (p. 160) Baro de Ramalho{11} assim se posiciona: "Oppoente aquelle que intervem na causa para excluir a um ou a outro dos litigantes, ou a ambos; faz as vezes de autor". Manuel de Almeida e Souza de Lobo{12} j se havia mostrado reticente a Pereira e Souza, admitindo que na oposio demandante e demandado deveriam figurar no plo passivo da relao processual: "Que porm no seja necessria citao do ro e do primeiro auctor para os artigos da opposio, no to certo como aqui affirma Souza; h outros arestos que referem o citado Peg., n. 57, e no Tom. 1, Form., C 5, p. 380. E nesta colliso de arestos se deve seguir o mais seguro, que citarem-se o auctor e o ru para a opposio. Bem que, se elles no citados responderam opposio, fica asss supprida a citao". O Decreto n. 848, de 1890, veio como complicador maior das controvrsias ao estabelecer que oposio " a aco de terceiro, que intervm no processo para excluir o ro". Tal s foi desfeito com o Decreto n. 3.084, de 1898, que acabou por adotar a definio do
Decreto n. 737. A questo continuou ensejando posicionamentos vrios. Assim que se assentou que, quando terceiro intervm no processo para excluir uma das partes, e porque est em favor da outra e, neste caso, a figura 11. RAMALHO, Barbo de. Praxe brasileira. 2. ed., So Paulo, 1904, 67, p. 85. 12. LOBO, Manuel de Almeida e Souza de. Segundas linhas sobre o processo civil. Lisboa, 1868. (p. 161) ocorrente de assistncia, no de oposio, por isso que Joo Monteiro,{13} firmou-se do seguinte modo: "Diz-se excluir tanto o auctor como o ro porque nisto precisamente consiste a opposio, ficando assim patente o erro de alguns DD. que a consideram ora dirigida contra o auctor ora contra o ro ou juntamente contra ambos." 5 - OPOSIO E OS CDIGOS ESTADUAIS Dos Cdigos de Processo dos Estados colhemos as seguintes posies legislativas sobre o plo passivo da ao de oposio: Cdigo Estadual de So Paulo, art. 83: "O terceiro que se julgar com direito sobre o objeto do litgio pode, manifestando inteno diversa da dos litigantes, intervir como oponente." Cdigo Estadual do Distrito Federal, art. 163: "A opposio a aco do terceiro que se julga com direito sobre o objecto da causa e intervem no processo para excluir as partes, ou qualquer dellas." Cdigo Estadual de Minas Gerais, art. 229: "Quem tiver jurdica pretenso sobre o direito ou a cousa que constitue objecto de uma demanda 13. MONTEIRO, Joo. Curso de processo civil. 4. ed., Rio de Janeiro, 1925, 306, p. 863-864. (p. 162) entre outras pessoas, poder intervir no processo para excluir ambos os litigantes." Cdigo Estadual da Bahia, art. 11: "Quem tiver jurdica pretenso sobre o direito ou a coisa, que constitue o objecto da demanda entre outras pessoas, pde intervir no processo, oppondo-lhes uma petio que lhes excla as pretenses." Cdigo Estadual do Rio Grande do Sul, art. 84: "Oppoente o terceiro que intervem no processo para excluir o auctor e o ro."
Cdigo Estadual de Pernambuco, art. 409: "Querendo um terceiro excluir ao mesmo tempo as pretenses do autor e do ro, ou as destes e de outro oppoente anterior, sobre o objecto do litgio, poder faz-lo, emquanto na causa se no tiver proferido deciso final irretractavel." Cdigo Estadual do Cear, art. 159: "Por meio da opposio pde um terceiro intervir no processo para excluir conjunctamente o autor e o ro." Cdigo Estadual do Paran, art. 86: "Pde intervir no processo, oppondo-se ao autor e ao ro, aquelle que entende pertencer-lhe o direito ou a cousa que constitue o objecto da demanda." (p. 163) 5.1 - O Cdigo de 39 O Cdigo Federal de 1939, quanto ao particular, manteve-se fiel s Ordenaes, ao Regulamento n. 737, de 1850, Consolidao de Ribas, refletindo um dos propsitos de Pedro Batista Martins, autor do seu anteprojeto, qual seja: o de pr fim s desinteligncias sobre os figurantes do plo passivo da relao processual na oposio. O art. 102 do Estatudo pretrito tinha a seguinte redao: "Quando terceiro se julgar com direito, no todo ou em parte, ao objeto da causa, poder intervir no processo para excluir autor e ru." No obstante isso, J. M. de Carvalho Santos{14} divergiu de Pedro Batista Martins e de Joo Monteiro, perfilhando o entendimento de que no plo passivo da relao processual da oposio, quando se trata de ao real, devem figurar demandante e demandado da aobase; quando se trata de ao pessoal, deve figurar apenas o demandante da ao-base. dele o seguinte texto: "Costuma-se dizer que a caracterstica da oposio a incompatibilidade do oponente com a do autor e ru. Est certo, se se trata de ao real, como j vimos, mas na ao pessoal a incompatibilidade poder ser apenas quanto a inteno do 14. SANTOS, J. M. de Carvalho. Cdigo de Processo Civil interpretado. 5. ed., So Paulo, 1958, v. 2. (p. 164) autor, visando a oposio ao seu afastamento, embora no se pretenda a excluso, tambm, do ru. O que se verifica o seguinte: oposio visa excluso do autor e permanncia do ru, com
quem o oponente pretende discutir o direito pessoal, que alega ter. No passa a ser assistente do ru, como se est a ver, mesmo porque a sua pretenso no coincide com a deste." A posio de Carvalho Santos no prevalece. So indistinguveis os caracteres da oposio em razo da natureza do interesse jurdico conflitado na ao-base. De direito real ou de direito pessoal, a oposio ser sempre ofertada em face do demandante e do demandado da ao-base, sem que haja nessa exigncia litisconsorciao passiva necessria, quase necessria, exCepcional ou sui generis como querem alguns. A hiptese no de litisconsorciao, sim de pluralizao de partes no plo passivo sem que haja litisconsrcio. Inocorre a juno de lides visando a mesma sorte. O litis-cum-sors est ausente. Os objetivos das partes so antagnicos, opsitos, no obstante nico, na maior das vezes, o objeto; necessariamente, nem sempre. 5.2 - O Cdigo de 73 "Art. 56: "Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e ru, poder, at ser proferida a sentena, oferecer oposio contra ambos." Restaram, assim, definidos os limites subjetivos do plo passivo da ao de oposio. V-se que o legislador ptrio manteve-se fiel , na atualidade, origem histrica do instituto, em especial (p. 165) ao Decreto n. 737; no assim o agoral lusitano, visto o contido nas Ordenaes. Hoje o Cdigo de Processo Civil portugus admite a oposio em face do autor da ao-base. As Ordenaes, suas anosas fontes, foram menoscabadas. bem verdade que o Professor Jos Alberto dos Reis, comentando o anterior Cdigo de Processo Civil lusitano, {15} exposou o entendimento de que a oposio sempre contrastar com a pretenso do autor, podendo contrastar ou no com a do ru. Citou, para tanto, dois exemplos aclaradores de sua posio: "Imagine-se que est pendente uma aco de dvida; o ru no nega a obrigao de pagar e simplesmente levanta dvidas quanto ao verdadeiro titular do direito de crdito; surge o opoente e diz: sou eu o credor, e no o autor. Neste caso, h conflito entre a pretenso do opoente e a do autor; mas no h conflito algum entre a pretenso do
opoente e a do ru. O opoente prope-se excluir aquele, no se prope excluir este. Outro exemplo: A demanda B para reivindicar um prdio de que est de posse; o ru alega que o prdio seu; intromete-se C, como opoente, a dizer: o prdio nem pertence ao autor nem pertence ao ru, pertence-me a mim, sou eu o proprietrio. Aqui o opoente formula uma pretenso que colide tanto com a do autor, como com a do ru." Acrescenta o eminente processualista, apontando como caracterstico da oposio que o direito do opoente 15. REIS, Jos Alberto dos. Cdigo de Processo Civil lusitano. 3. ed., Coimbra: Coimbra Editora, 1948, v. 1, p. 484. (p. 166) " sempre incompatvel com a pretenso do autor e pode s-lo tambm com a pretenso do ru." A par da projeo do Decreto n. 737 em nosso sistema atual, resta, outrossim, a identidade ideria com o modelo alemo. Adolfo Schnke{16} sobre o tema, disse: "Quem pretende para si, no todo ou em parte, a coisa ou o direito, que se constitui no litgio entre as partes, pode exercitar sua ao por meio de uma demanda contra as partes do processo pendente." 6 - OPOSIO E EXCLUSO DAS PRETENSES DAS PARTES OPOSTAS Ento, ultrapassada a fase de discusso, se a oposio exclui autor ou ru, ou a ambos, tem-se tido por toda doutrina, at porque se trata de questo evidente j no campo do tautolgico, que a excluso no do autor e ru, nem tampouco do autor exclusivamente ou do ru apenas, sim das pretenses deduzidas por ambos, por isso se diz que o opoente busca afirmar direito seu incompatvel com os dos opostos. J pela distante Consolidao de Ribas conheceu-se essa particularidade do instituto, que somente depois assentou-se pacificada. A oposio no exclui partes, sim as suas pretenses. O seu art. 280 tem a seguinte redao: "Todo aquelle, que tiver interesse na causa, que entre outros se litiga, para excluir simultaneamente a inteno do autor e a do ro, ser nella admittido como oppoente. 16. SCHNKE, Adolfo. Derecho procesal civil. 5. ed., Barcelona: Bosch, 1950. No mesmo sentido, KISCH, W. Elementos de derecho procesal civil. Trad. de L. Prietro Castro. Madrid: Revista de Derecho Privado, 1940. (p. 167)
[...] a oposio no se destina a excluir autor e ru do processo existente sobre determinado direito. O oponente deseja propor sua ao contra eles, formar um processo para isso".{17} corrente que a excluso das partes opostas implicaria alijar do processo elemento indispensvel sua existncia. Ento, no se exclui partes, sim pretenses em nvel de pedido e resposta, caso esta exista, visto a revelia. Nisso estiveram as frmulas ad infringendum jura utrius que competitoris, ad impedendum ou ad excludendum. A primeira a melhor. 7 - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA OPOSIO a) Processo de sentena, sem que esta tenha sido proferida - A oposio , inquestionavelmente, ao que o opoente prope em face de, no mnimo, dois opostos. Trata-se de ao com carter de excepcionalidade, porque o seu vir-a-ser no prescinde de que outra haja e seja sua preexistente. Impe-se que a ao de sua preexistncia esteja materializada em processo regido pelo procedimento ordinrio comum, cautelar, de jurisdio contenciosa, e noutros casos de cognio ampla, admitindo-a, outrossim, na ao civil pblica e nos embargos. Exclui-se a ao materializada em processo regido pelo procedimento sumrio; do juizado 17. RIBAS, Antnio Joaquim. Consolidao das disposies legislativas e regulamentares concernentes ao processo civil. Rio de Janeiro: Typografia Nacional, 1878, p. 154, BB. (p. 168) especial cvel, jurisdio voluntria, juzo arbitral, e do Cdigo de Defesa do Consumidor. A princpio, cheguei a admitir a cabida da oposio em todos os tipos de procedimento. No via nisso nenhum bice, por isso que se o movere do instituto est na economia processual (tempo e custo), est no propsito de evitar decises conflitantes, est no elemento sociopsicolgico que se busca evitar em razo do quanto pode instabilizar, a um ou mais sujeitos, a certeza de uma ao sobre "coisa ou direito" que lhes pertence, no me parecia razovel, por questo de valor ou simplificao de procedimento, inadmitir a oposio. A uma, porque a questo de valor por demais relativa, tanto que o pouco para alguns pode ser uma fortuna para outros; a duas, porque os procedimentos simplificados (de economia) no poderiam incompatibilizar-se com instituto firmado tambm no princpio da economia; a trs, porque se
duas ou mais pessoas esto em juzo resolvendo conflito, ou mesmo regidas pelo procedimento voluntrio, buscando um provimento jurisdicional fundado no juzo valorativo do melhor direito, ou simplesmente de carter homologatrio, mas de qualquer forma dando novo rumo "coisa ou ao direito" que no lhes pertence, no via como impedir a ao do opoente. Contudo, hoje a lei expressa e no admite a oposio no procedimento sumrio e outros procedimentos de maior simplificao. Obedeamo-la. Assim, nessa quadra, prefiro a posio de Atlio Carlos Gonzlez: "La intervencin principal o excluyente debe ser formulada ante un rgano judicial dentro del marco de referencia del proceso contencioso o jurisdiccional; debiendo ser excluidas, por principio, las eventualidades de que ello acontezca en (p. 169) un proceso arbitral pendiente o, en su caso, en un proceso voluntario."{18} b) Qualidade de terceiro - Terceiro todo aquele que no figura na relao processual na condio de demandante ou demandado, mas que dispe de certa medida de relao jurdica com o bem de vida ou com a situao jurdica conflitada, ou, ainda, com outro bem ou outra relao jurdica, mas que pode, tanto uma como outra, ser afetada em razo da deciso judicial, o que o autoriza, por conseguinte, a ingressar no processo voluntariamente ou por provocao. A noo de terceiro se perfaz com a noo de negao, por isso terceiro o que no parte. c) O opoente deve pretender para si, no todo ou em parte, a coisa ou o direito, deduzindo pretenso incompatvel com o direito do autor e do demandado da aobase; d) A demanda do opoente deve ser conexa com o objeto e a causa de pedir da ao-base.{19} "Presupposti dellintervento principale sono lincompatibilit del diritto e la connessione delloggetto o della causa petendi...". O instituto da oposio entre ns implica duplicidade de pretenses. 8 - OPORTUNIDADE DA OPOSIO Imprescinde conhecer a mens legislatoris sobre os dois momentos processuais estabelecidos pelo legislador para o exerccio do direito de ao de oposio. 18. GONZLEZ, Atilio Carlos. La intervencin voluntaria de terceros en el
proceso, cit., p. 44-45. 19. COSTA, Sergio. Manuale di diritto processuale civile. 5. ed., Milano: Utet, p. 184. (p. 170) No art. 59 do anteprojeto do Cdigo vigente, o Professor Alfredo Buzaid fez constar a seguinte redao: "Quem pretender, no todo ou em parte, enquanto no passar em julgado a sentena, pode oferecer oposio contra ambos". O art. 61 do Projeto de Lei n. 810/72 substituiu o "enquanto no passar em julgado a sentena", por "at ser proferida a sentena", diferindo, assim, do anteprojeto, bem como do Cdigo de 1939. Assim, o legislador estabeleceu dois tempos para oferecimento da oposio: o primeiro, at o momento do prego das partes para a audincia na ao-base, caso em que esta ser suspensa, prosseguindo aps a citao dos opostos. A oposio e a ao sero apensadas aos autos da ao-base, devendo, depois, ser julgadas pela mesma sentena, sendo a oposio preferencial, ou seja, devendo o julgador apreci-la primeiro. Aqui est um modelo que mais se ajusta ao germano-barbrico, por isso que o carter de incidentalidade resta mais ntido, tanto que os autos so apensados e h unidade obrigatria do procedimento. O segundo (tempo), depois de iniciada a audincia, seguindo a oposio o procedimento ordinrio, sendo julgada sem prejuzo da causa principal. Nesse caso, o legislador transfere ao julgador a faculdade de sobrestar a ao-base por at noventa dias, a fim de que a oposio se aparelhe com a causa principal e sejam ambas julgadas a um s tempo, conhecendo de igual modo, primeiramente, da oposio. Aqui est um outro modelo que mais se ajusta ao italiano-medieval, por isso que o carter de incidentalidade faz-se mais tnue, tanto que as aes so conduzidas em autos de processos separados, autonomamente, podendo ser apensados. (p. 171) Nisto se louva a Comisso elaboradora do Cdigo de 73, que buscou ser fiel s duas origens histricas do Instituto. A clareza do texto desfaz a razo de qualquer questionamento sobre dies ad quem (termo final) para o oferecimento da oposio. Nesse sentido j se manifestou o eminente Ministro Pedro Soares Muoz,{20} com o seguinte registro: "Penso, no entanto, que a possibilidade de ser oferecida a
oposio, depois da sentena pendente de recurso, veio de ser eliminada pelo art. 56 do novo Cdigo, visto que, segundo ele, "quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e ru, poder, at ser proferida a sentena, oferecer oposio contra ambos". Essa a interpretao que decorre do enunciado da norma legal. Se a lei tivesse o propsito de manter a orientao a que o Cdigo de 1939 deu ensejo, estabeleceria o trnsito em julgado na sentena, como termo ad quem da oposio. Nem se diga que a palavra sentena est empregada no art. 56, como equivalendo a deciso com trnsito em julgado ou acrdo. Esses entendimentos no se harmonizam com os conceitos de sentena e de acrdo enunciados no art. 162. O Cdigo de 1939 no indicava o termo ad quem da oposio. Limitava-se a anunciar o termo a quo. Predominou a orientao de que seu oferecimento deveria realizar-se sempre na primeira instncia, ainda que a ao se achasse na superior instncia, em grau de recurso. A possibilidade de ser a oposi 20. MUOZ, Pedro Soares. Estudos sobre o novo Cdigo de Processo Civil, p. 34. (p. 172) o oferecida depois da sentena veio a ser eliminada pelo art. 56 do novo Cdigo, eis que este, se tivesse o propsito de manter o entendimento a que o anterior rendera ensejo, estabeleceria o trnsito em julgado da sentena como termo ad quem de sua manifestao (Ac. unnime da 2 Turma do STF de 6/5/75, no RE 80.900-RS, rel. Min. Carlos Thompson Flores)." O Ministro Carlos Thompson Flores, relator do RE n. 80.900, julgado pela 2 Turma do STF,{21} em dado momento do seu voto se expressou: "Certo que o vigente Cdigo de Processo Civil ps fim dvida, tornando expresso o dies ad quem para que se oferea a oposio". Quanto ao termo a quo, tenho que deve ser fixado a contar do momento em que se efetiva a citao do demandado na ao-base. O modelo alemo permite o ingresso do opoente at o momento em que a sentena definitiva se torna final, isto , transita em julgado (bis zur rechtskrftigen entscheidung). No obstante a fidelidade do legislador de 73 s origens histricas do instituto, quer me parecer que teria sido mais prtico se tivesse estabelecido um s tempo
para o oferecimento da oposio, ou seja, da citao at o momento da sentena. Nada mais. A oposio seria apensada aos autos-base e o seu julgamento, prejudicial. 9 - CONSEQUNCIAS PRTICAS DA OPOSIO a) Pluralidade passiva obrigatria de partes, sem que isso implique litisconsorciao necessria, j que 21. RTJ, 74/603-607. (p. 173) os interesses so todos opsitos entre si; est ausente o htis-cum-sors. b) A oposio como prejudicial do juzo exige seja primeiro conhecida. c) No caso de ser ofertada a oposio antes de iniciada a audincia, o que determina o apensamento dos autos da ao principal com os autos da ao de oposio, tendo as duas aes o mesmo trmite, dispe o art. 59 do Cdigo de Processo Civil, que sero ambas julgadas pela mesma sentena. No caso de ser oferecida a oposio aps iniciada a audincia, mesmo seguindo ela o procedimento ordinrio, havendo o sobrestamento do andamento da aobase pelo prazo mximo de noventa dias e tendo chegado ao fim juntamente, tambm haver uma s sentena. no O que convm ficar assentado aqui que, mesmo havendo sobrestamento da ao-base, no possvel julg-la sem que antes seja julgada a oposio, j que esta, ainda que autonomamente, prejudicial exgena. Diz-se prejudicial a questo de mrito que exige seja apreciada antes da soluo do litgio base, e que nele, por conseqncia, tenha de influir. Ser interna ou endgena, se decorrer de fatos que sobressaem no prprio processo-base. Ser externa ou exgena se decorrer de fatos que se sobressaem em processos autnomos, apensados ou no. uma conseqncia da coexistncia de aes, que tripartese nas seguintes situaes: a) na situao em que a segunda ao totalmente absorvida pelo resultado da primeira; b) na situao em que a segunda absorvida em parte pelo resultado da primeira; c) na situao em que a segunda exercida aps a primeira e absorve-lhe todos os seus efeitos. Nesse (p. 174) caso ocorre o concurso cumulativo das aes, enquanto que nos dois outros o concurso eletivo;{22} d) se procedente, a oposio, impe-se, outrossim, a emisso de juzo valorativo sobre a pretenso das partes opostas, uma vez que a sentena na oposio faz coisa julgada entre o opoente e o oposto demandante da
ao-base, tambm entre o opoente e o oposto demandado da mesma ao, no o fazendo entre demandante e demandado da ao principal originria. Sendo certo, bem de ver, que o objeto da ao-base ter sido absorvido pelo objeto da ao de oposio. A menos que no tenha sido reconhecida nesta, no todo, o direito da primeira; e) se improcedente, a oposio, impe-se, com maior razo, a exigncia de emisso de juzo valorativo na ao-base; f) se a oposio preferencial no juzo, tem-se que a ordem de manifestao das partes dever ser a seguinte: opoente, oposto autor e oposto demandado; g) havendo mais de uma oposio, a ordem de manifestao das partes deve seguir o mesmo critrio, a comear do ltimo opoente. 10 - EFEITOS DA OPOSIO a) Inova a ao-base. b) Alarga o tema do contraditrio. c) Favorece ao julgador medida maior de dados para formao da convico judicial. d) Alarga os limites subjetivos da coisa julgada. 22. MENDES JNIOR, Joo. Direito judicirio brasileiro, p. 131. (p. 175) Elio Fazzalari{23} chega a afirmar que "lintervento ad excludendum allarga il tema del contraddittorio e della decisione, estendendolo alla posizione sostanziale dellinterveniente: quindi un intervento innovativo. Inoltre, linterveniente non qui subordinato a nessuna delle parti; si tratta, dunque, di un intervento principale". 11 - PRINCIPIOS GERAIS E ESPECIAIS DA OPOSIO preciso cuidado para que no estudo de qualquer tema no se confira medida maior de significado aos princpios gerais, seus regedores, e sejam apoucadas as medidas dos princpios especiais. No caso do instituto da oposio, sobressaem princpios especiais que devem se sobrepor aos gerais, e de comum, existentes no processo. Assim temos que: a) a citao se faz nas pessoas dos advogados, mesmo sem poderes para tanto. A preexistncia doutra ao, um dos pressupostos de admissibilidade da oposio, resulta na certeza de que as partes demandadas, as opostas, j esto em juzo, ou, se no esto, em razo da revelia daquela que figura no plo passivo, pelo menos
esto nominadas como partes. Impende que sejam citadas pessoalmente, porque j com advogados constitudos para o mesmo caso; ou com curador, na hiptese de revelia decorrente de citao editalcia; ou simplesmente revel, mesmo citada pessoalmente. Certo que os advogados presentes tm poderes para defend-las no confli 23. FAZZALARI, Elio. Istituzione di diritto processuale. 7. ed., Padova: Cedam. (p. 176) to que se instaurou sobre o bem de vida que o opoente afirma ser seu, no todo ou em parte. Prescinde, no caso, de que os tcnicos do direito tenham poderes expressos para receber citao, por isso recebem-na por fora de lei. uma excepcionalidade que se sobrepe generalidade. Certo, contudo, que inexiste nulidade de citao quando feita diretamente parte oposta. , simplesmente, desprezo economia processual (tempo e custo). Convm aqui expressar o entendimento de que quando citado o demandado da ao-base por edital, decretada a sua revelia e lhe nomeado curador, despiciendo se faz cit-lo outra vez via editalcia, bastando que a citao, em razo da ao de oposio, seja feita na pessoa do curador j nomeado. O contrrio implicaria o seguinte: novo edital e novo decreto de revelia e nomeao do mesmo curador, vez que no h sentido em nomear outro. Outra vez o princpio da economia processual (tempo e custo); b) no obstante partes com procuradores diversos, o prazo de contestao no se conta em dobro. Poder-se-ia questionar se, ao prazo para contestar na oposio, no se aplicaria a regra do art. 191 do Cdigo de Processo Civil, que preceitua: "Quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores, ser-lhes-o contados em dobro os prazos para contestar, para recorrer e, de modo geral, para falar nos autos." O Professor Celso Agrcola Barbi entende que sim. O Professor Egaz Moniz de Arago entende que no. Embora na oposio inexista a litisconsorciao passiva, tratando-se, sim, de pluralizao de partes demandadas com pretenses antagnicas, fora convir que o art. 191 do Cdigo de Processo Civil exige seja estudado em cotejo com a regra excepcional do instituto. Tendo em vista que nos estudos dos institutos a excepcionalidade cede lugar regra geral, e em face de (p. 177) tratar-se a oposio de ao com particularidades excepcionais, quais as que esto sendo vistas, admito que, se fosse o caso de se pretender aplicar o art. 191 ao
instituto em estudo, o legislador teria, no mnimo, silenciado quanto ao prazo. No silenciou e expressamente delimitou em quinze dias o tempo da resposta numa situao bvia de partes plrames. Firmo-me, ento, na convico de que o prazo de resposta para os opostos de quinze dias. Acrescentando mais: o prazo de quinze dias, na oposio, aplica-se inclusive s partes opostas, quando uma delas for Fazenda Pblica ou Ministrio Pblico, que gozam do privilgio do art. 188 do Cdigo de Processo Civil, que estabelece: "Computar-se- em qudruplo o prazo para contestar e em dobro para recorrer quando a parte for a Fazenda Pblica ou o Ministrio Pblico." Conduzo-me por esta concluso no s por se tratar de situao excepcional, como j se viu, mas, tambm, porque a no-admisso desse pensamento implica o favorecimento de uma parte em prejuzo da outra, com desprezo manifesto ao princpio da igualdade. Imagine a oposio ofertada contra partes em ao em que uma delas goza do privilgio do art. 188 e a outra no. A admitir-se o contrrio, teramos que tolerar um oposto com o prazo de quinze dias para contestar, e o outro, com o prazo de sessenta dias para o mesmo ato. A igualdade de tratamento, na hiptese, seria menoscabada. Parece-me, ento, mais razovel a posio de Moniz de Arago. Explico mais: o privilgio do art. 188 constituiu tema de debate entre os parlamentares quando da sua votao. De um lado, a corrente que entendia no dever existir tal privilgio por inconstitucional, visto a desigualdade de tratamento dispensada s partes no proces(p. 178) so. Doutro lado, a corrente em seu prol, tendo sido esta prevalecente sob o argumento de que as pessoas de direito pblico, as autarquias e as demais pessoas beneficiadas pelo dispositivo tinham sobrecarga de trabalho em face do alcance geogrfico e demogrfico do seu atendimento. Certo o argumento, porm no aplicvel oposio, uma vez que, na prtica, no so to comuns os exerccios de pretenso para fazer valer tal tipo especfico de ao. 12 - FACULTATIVIDADE DA OPOSIO digno de nota, no instituto da oposio, o carter de facultatividade do seu exerccio. O que sobressai com mais relevo nesse particular que, se o terceiro
fizer uso do instituto, ou no o fizer, prejuzo nenhum sofrer. Poder ele, aps decidida a causa entre autor e demandado na ao-base, intentar, em face daquele que nela tiver sido vitorioso, ao prpria e pertinente situao que remanesceu da sentena. essa medida extrema de facultatividade e a inexistncia de qualquer prejuzo ao terceiro que tem feito alguns juristas refletirem sobre a convenincia ou no da mantena desse instituto no elenco das figuras intervencionais. Heitor Martins, jurista lusitano, se insurgiu contra a oposio, dizendo-a responsvel por tornar confusas e inestrincveis as demandas, no que foi resistido e vencido pelo emrito Professor Alberto dos Reis. Dir-se-ia ento que a medida maior da convenincia de sua permanncia no processo est na celeridade, na economia processual, no alargar da relao subjetiva do processo, no favorecimento ao julgador de ver a questo do ngulo de outras provas que podem permitir a (p. 179) efetiva deciso justa; mas, de outro lado, vislumbra-se que o princpio da celeridade, que tambm interessa s partes da ao-base, os opostos, fica secundado pelo interesse de celeridade do opoente. O que se tem de certo que a oposio figura de uso eminentemente facultativo, cuja facultatividade est assegurada no "poder" do art. 56 do nosso Cdigo de Processo Civil. "Lintervento principale non un mezzo necessario; poich la sentenza forma cosa giudicata solo tra le parti, il terzo che ritenga davere un diritto incompatibile con quello delle parti, ha facolt difare intervento, ma non necessit."{24} 13 - JUZO COMPETENTE DA OPOSIO A oposio ser distribuda por dependncia, implicando esta exigncia na certeza de que o juiz da ao-base ser o juiz da oposio, no socorrendo ao opoente o direito de argir exceo de incompetncia do juzo, em face do disposto no art. 109 do Cdigo de Processo Civil, no lhe sendo vedada a possibilidade da argio de incompetncia absoluta, como prev o art. 113 do mesmo Cdigo. No se lhe pode negar, no entanto, o direito de aduzir defesa indireta de natureza dilatria, quais as excees de suspeio e de impedimento. Outrossim, na hiptese de o opoente tratar-se de pessoa com privilgio
de foro, a competncia deste preferir a competncia do juzo da ao-base. 24. COSTA, S. Manualle di diritto processuale civile. 5. ed., Milano: Utet, p. 184. (p. 180) 14 - A MODIFICAO DA COMPETENCIA E A OPOSIO Se no se trata de competncia firmada em razo da matria e em razo da funo, dita absoluta, por isso que acertvel a qualquer tempo, em qualquer fase do processo e grau de jurisdio, a propositura da ao-base ou originria em sentido contrrio firma a competncia relativa. Se outro for o foro ou a circunscrio, visto o interveniente, modifica-se a competncia do juzo para apreciao da sua pretenso. Se o mesmo foro, no h que se cogitar de modificao ou prorrogao. 15 - INTERESSE, LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURDICA DO PEDIDO O legislador processual brasileiro no foi minudente neste particular, bem como o legislador processual lusitano hodierno, porque, tratando-se a oposio de vera ao, preciso se tenha em conta o que preceitua a Teoria Geral do Processo sobre as condi- A es da ao. 16 - AUSENCIA DAS CONDIES DA AO - INDEFERIMENTO LIMINAR O legislador processual lusitano deixou expressa a possibilidade de rejeio liminar da oposio: "Se a oposio no for liminarmente rejeitada, o opoente fica tendo na instncia a posio de parte principal, com os direitos e responsabilidades inerentes, e ser ordenada a notificao das partes primitivas para que dentro de 8 dias contestem o pedido" (art. 344 do CPC lusitano). (p. 181) No direito portugus, a oposio apreciada no saneador se ofertada antes da audincia, ou antes que aquele despacho tenha sido proferido. Se ofertada depois, ter que ser apreciada a sua admissibilidade em cinco dias. Nesses termos, a lio do processualista Jacinto Rodrigues Bastos: " em despacho saneador que o juiz conhecer da admissibilidade da oposio, quando no tenha sido indeferida liminarmente a petio que a tenha formulada. Se a oposio foi deduzida antes de ter sido proferido o despacho saneador da causa principal, ser nele que se far essa apreciao,
demorando-se, quando necessrio, os termos da aco, de modo a conseguir-se esse objectivo; se a deduo foi posterior ao despacho saneador, o prazo de admissibilidade ser de 5 dias."{25} No obstante silente o nosso Cdigo quanto a possibilidade de indeferimento ou no, liminarmente, da oposio, de se concluir que, estando ausentes as condies de ao e mais as caractersticas pertinentes ao instituto, impe-se o indeferimento liminar. de se observar que no direito brasileiro no se ouvem autor e ru da ao-base para admitir ou inadmitir a oposio; tal fica na dependncia de estarem presentes os requisitos do juzo de admissibilidade. Em caso positivo, o juiz mandar citar os opostos. Conclui-se que, no satisfazendo a pretenso deduzida s exigncias legais para a sua admisso, ser ela liminarmente indeferida, ressalvada a possibilidade de se conceder ao demandante-opoente o direito de aditar corretivamente a sua inicial. 25. BASTOS, Jacinto Rodrigues. Op. cit., p. 160. (p. 182) 17 - O PEDIDO E SUAS CONSEQNCIAS 17.1 - Citao, reconhecimento do pedido e desistncia 17.1.1 - O pedido O pedido, como instrumentalizao do exerccio do direito de pretenso, deve-se ater s exigncias substanciais e formais dos arts. 282 e 283 do Cdigo de Processo Civil, sujeito ao saneamento do caput do art. 284, podendo ser indeferido com base no seu pargrafo nico. 17.1.2 - A citao Estando em termos, o juiz determinar a citao, para que os opostos contestem o pedido no prazo comum de quinze dias. A citao ser feita nas pessoas dos advogados, nada impedindo que seja feita nas pessoas dos prprios opostos. O entendimento da jurisprudncia: "O art. 57 do CPC ao determinar a citao dos opostos nas pessoas de seus respectivos advogados, tenham eles ou no poderes para receber citao, estabelece uma exceo regra geral do art. 38 da lei processual, de que a citao deve ser feita na pessoa do ru. Todavia, perfeitamente vlida a citao feita na prpria pessoa dos referidos interessados (Ac. 5.975 do TJPA, em
sesso plena de 17-03-80, em AR, rel. Des. Rodrigues de Amorim)."{26} 26. RJTJPA 21/126. (p. 183) 17.1.3 - Reconhecimento do pedido e desistncia Trata-se de formas anormais de terminao do processo. Questo singela se d na ao de oposio, quando um dos opostos reconhece a procedncia do pedido do opoente, bem com quando ocorre a sua desistncia do oposto autor. Primeiro, porque, nesses casos, deve-se observar a regra do art. 26 e 1 do Cdigo de Processo Civil, que diz respeito s custas e honorrios, como deixou assentado o legislador: "Se o processo terminar por desistncia ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorrios sero pagos pela parte que desistiu ou reconheceu. 1 Sendo parcial a desistncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e honorrios ser proporcional parte de que se desistiu ou que se reconheceu". Segundo, porque se desfaz a pluralizao passiva da oposio. Terceiro, que, tendo em vista que a oposio ao autnoma, o reconhecimento em razo e aproveitvel a esta, no ao-base, na qual permanece inclume a relao autor e ru. Ocorre, contudo, que h necessidade de que o juiz homologue a desistncia nos autos da oposio, a fim de que seja liberada a parte que reconheceu a procedncia do pedido. O Professor Celso Agrcola Barbi apresenta duas alternativas: ou se extingue por deciso interlocutria, (p. 184) ou se extingue por sentena aps fazer-se uma separao de aes; ou seja, uma reproduo de autos para que nestes, reproduzidos, seja, prolatada a sentena. Se, porventura, houver apelo em razo de uma condenao excessiva em honorrios, por exemplo, estes autos subiro Instncia Superior, sem prejuzo da tramitao normal da ao-base e da oposio, que permanece contra o outro oposto. Embora no exista autorizao expressa para tanto na Seo da oposio, ensina o eminente processualsta que o juiz poder faz-lo com base no art. 125 do Cdigo de Processo Civil, que preceitua sobre a
necessidade de assegurar s partes igualdade de tratamento e de velar pela rpida soluo do litgio. Os emritos processualistas Jos Manoel de Arruda Alvim{27} e Hlio Tornaghi{28} j exercem magistrio dissmil ao afirmarem que, se o reconhecimento do pedido for da parte do ru da ao-base, de se prolatar sentena, nos autos da oposio, nos termos do art. 269, II, do Cdigo de Processo Civil, liberando-o, desse modo, da relao processual, prosseguindo a oposio contra o autor oposto, com vistas em sentena de natureza declaratria, uma vez que a anteriormente prolatada de medida maior de condenatoriedade. interessante a hiptese porque, havendo o reconhecimento por parte do requerido oposto (ru), o interesse do autor oposto se volta para o opoente, porque o bem de vida que este (autor) pretendia agora foi reconhecido em favor do seu opositor. Nesse passo, se a oposio for procedente em face do autor oposto, a 27. ARRUDA ALvIM, Jos Manoel de. Cdigo de Processo Civil comentado, v. 3, p. 162-163. 28. TORNAGHI, Hlio. Comentrios ao CPC, v. 1, p. 244-245. (p. 185) sentena ser declaratria; se improcedente, a sentena ser condenatria. Portanto, se o reconhecimento do pedido do opoente se d pelo ru da ao-base, como j se viu, h um deslocamento de direito para o opoente, e, na ao originria, ter o ru que ser condenado, tambm, em custas e honorrios em face do autor de sua ao, em razo do princpio da causalidade que o nosso Cdigo adotou. Melhor, ento, me parece, a posio dos professores paulistas. Outra a situao quando o autor da ao-base reconhece a procedncia do pedido do opoente. No obstante as luzes de saber dos eminentes mestres, tenho que a situao no diferente. Nesse caso, basta que se homologue o reconhecimento, e o opoente passa a ser o nico pretendente do bem, em face do oposto requerido. Assim, se o autor reconhece a procedncia do pedido do opoente, impe-se-lhe a desistncia da ao, em razo do seu demandado na ao-base. No h outra alternativa. Como poder ele continuar demandando um direito, em tese, se j o reconheceu melhor em favor do opoente? Ora, e se a oposio, aps, foi julgada improcedente? Prevalece o oposto requerido junto ao bem de vida pleiteado.
Hiptese que merece registro a que melhor diz respeito oposio, quando uma reconhece a procedncia do pedido do opoente e a outra parte oposta argi a ilegitimidade do opoente. Em tal situao, no admissvel que o julgador homologue o reconhecimento sem decidir, primeiro, se o opoente ou no legitimado; isso porque, se se concluir pela no-legitimidade, por conseqncia, impossvel ser a homologao. Dessa forma, conclumos que, sendo os opostos citados na pessoa de seus advogados, se no houver o (p. 186) reconhecimento do pedido do opoente, socorrem-lhes trs alternativas: 1) argir a no cabida da oposio, porque o direito afirmado pelo opoente no antagnico ao que afirmado pelos opostos; ou o bem de vida que constitui o objeto do conflito dos opostos no o mesmo que reclama o opoente (nestes casos, dar-se-ia a impossibilidade jurdica do pedido); 2) argir a falta de legitimidade e interesse; 3) oferecer resposta. Admitida a oposio, ocorre, na verdade, uma conexidade de causas entre a ao-base e a ao de oposio, por isso que Pereira e Sousa j afirmava que o opoente, fazendo as vezes de autor, ofertava um libelo{*} contra um ou outro oposto, ou contra ambos.{29} Na hiptese de o opoente desistir da oposio, observadas as regras que regulam a desistncia, nenhum impedimento h que seja ela homologada nos termos do art. 267, VIII, Cdigo de Processo Civil, j que no se questiona mais tratar-se de ao. Poder-se-ia questionar sobre a possibilidade de o opoente desistir do pedido apenas em face de um dos opostos. Impe-se a negativa da possibilidade. Uma a situao quando um dos opostos reconhece a procedncia do pedido do opoente, o que permite o prosseguimento da oposio perante o subsistente, desfazendo, desse modo, a pluralizao passiva inicial. * Libelo em matria cvel, expresso comum das Ordenaes, foi substituda pela petio articulada, ou petio liberada, que aquela em que a exposio e a deduo so feitas por meio de artigos ou itens. 29. PEREIRA E SOUZA. Primeiras linhas..., v. 1, 72 e 154. (p. 187) Outra a situao quando o opoente desiste de
seu pedido perante um dos opostos, pretendendo prosseguir em face do outro, desfazendo, por esta razo, a pluralizao passiva da oposio, permanecendo a parte na relao processual anterior e fazendo transparecer que, nesse caso de desistncia unilateral, ficaria o opoente desistente como assistente coadjuvante da parte que desistiu, ou esta como assistente daquela. de se concluir que, na oposio, ou o opoente desiste de ambos os opostos, ou no desiste. Admitir-se o contrrio aceitar o que veda o nosso sistema processual sobre o instituto, no que concerne a oposio ofertada a um s dos opostos. Assim se diz porque pode acontecer que o opoente queira se opor apenas a uma das partes, mas tal lhe vedado. Ento, ope-se a ambas e, antes que venha a resposta, desiste daquela a quem no pretendia se opor, permanecendo contra a outra. Em caso de desistncia, na hiptese, aplicam-se as regras do art. 26, 1, do Cdigo de Processo Civil, quanto s custas e honorrios. 18 - NATUREZA DA AO DE OPOSIO Fora de dvida est que, ocorrendo a oposio, d-se a conexidade de causas, porque outra preexistia. Da ao preexistente que se conhece a natureza da sentena na oposio. Se o autor da ao-base pretendia um provimento condenatrio, a oposio ser, em face deste, de natureza declaratria positiva ,vez que visa afastar a sua pretenso deduzida. E, em face do ru, persistir a medida de condenatoriedade. Se o autor da ao-base pretende seja declarado inexistente o direito do ru sobre o bem que se acha em (p. 188) seu poder, portanto declaratria negativa, a oposio, se procedente, ser condenatria para o autor oposto e declaratria para o requerido oposto (ru). Na ao-base quando se pretende a declarao da existncia ou inexistncia de um direito, a oposio poder ter carter de condenatoriedade, se o opoente j detentor de ttulo que preexista sentena que almejam as partes opostas. Assim, ento, se o autor da ao-base, que detm a posse do bem, quer que o Estado declare que este no pertence ao seu requerido, tratando-se, portanto, de ao sem ttulo que prove lhe pertencer o bem, mas afirma que este lhe pertence, a sentena que julgar
procedente a oposio ser declarat ri a positiva para o opoente em face de seus dois opostos, cujos direitos, certo, lhe sero negados. Se o opoente possui ttulo que preexista sentena almejada pelos opostos e se a sua oposio for julgada procedente, ela no s ser declaratria para o opoente, mas sim condenatria em face do oposto autor, e declaratria em face do oposto requerido. 19 - POSSIBILIDADE DA OPOSIO SUCESSIVA - ORDEM DOS TRABALHOS NA CONDUO DO PROCESSO Oposio ao, e como tal direito subjetivo que no pode ser negado quele que, desde que fundado em razes jurdicas, mesmo que tticas, queira exerc-lo. No importa o nmero dos que afirmam t-lo (direito subjetivo), certo ento que, desde que o exercitam, impe-se a admisso. Joo Monteiro,{30} magistralmente, ensina que a lgica do direito est indicando que, sendo a oposio um direito de ao, deve ser to extensivamente permitida quanto livre o uso das (p. 189) aes em geral. No se menoscaba, pois, a possibilidade da oposio sucessiva. Havendo oposio, mais de uma oposio ou vrias oposies, a ordem dos trabalhos de conduo do processo ser sempre do ltimo opoente ao primeiro e, aps, demandante e demandado originrios. Isso se observa nas tomadas das deposies, nas oitivas das testemunhas, no oferecimento das razes orais ou escritas, se para as ltimas no se estabelecer concomitncia. 20 - RECURSOS CABVEIS Desde que se tem acertado que o sistema processual brasileiro assimilou, no instituto da oposio, parte do mtodo germano-barbrico e parte do mtodo italiano medieval, de cuja assimilao restou que a oposio pode ser ofertada em dois tempos - antes de iniciada a audincia e at ser proferida a sentena -, decorrendo que, se se der na primeira hiptese, ser tida a oposio como medida incidente, e, na segunda hiptese, como ao autnoma. Da exsurgem duas decises distintas que ensejam recursos diferentes, em caso de indeferimento da pretenso. No caso da oposio incidente indeferida, o recurso cabvel ser o de agravo de instrumento.
No caso de oposio, ao autnoma indeferida, o recurso cabvel ser o de apelao, j que a deciso indeferitria, neste caso, tem carter de sentena de indeferimento. 30. MONTEIRO, Joo. Processo civil e comercial. Rio de Janeiro: off. Graph. do Jornal do Brasil, 1925, v. 3, p. 866. (p. 190) Prefiro o entendimento de que na oposio, em caso de seu indeferimento, o recurso cabvel seja o de apelao, porque a questo de oportunidade ou de momento, antes ou depois da audincia, no desnatura a sua condio de ao. A questo de oportunidade no autoriza que a pretenso seja deduzida com inobservncia dos requisitos formais do art. 282 do Cdigo de Processo Civil e que no sejam atendidas as exigncias de custas e taxa, portanto, em qualquer momento, ao . A deciso que indefere pedido inicial apelvel. sentena de indeferimento. Alis, estou sugerindo que os termos a quo e ad quem para o oferecimento da oposio sejam, exclusivamente, da citao at a sentena. O pedido do opoente deve ser apensado aos autos da ao-base, obedecer a um s procedimento, e a oposio continuar prejudicial. 21 - PROCEDIMENTOS Procedimento a metodologia imposta para a prtica dos atos do processo. O nosso sistema processual comporta um procedimento dito comum, que se subdivide em ordinrio e sumrio, alm dos procedimentos especiais de jurisdio contenciosa e de jurisdio voluntria, cautelar e executivo. A oposio cabvel em todos os procedimentos, exclusive no sumrio, no executivo (exceto os embargos) e naqueles regidos por leis especiais com previso expressa. Quanto ao procedimento de jurisdio voluntria, porque no h vedao expressa da oposio, prefiro o entendimento de que, tratando-se de pedidos que des- (p. 191) locam a titularidade do bem ou d novo rumo relao jurdica, no se pode negar haja terceiro com melhor direito que qualquer dos envolvidos no procedimento, por isso que a oposio instituto de que se pode valer em juzo aquele que pretende, no todo ou em parte, a coisa ou o direito afirmados seus pelos interessados.
certo, no entanto, que se pode dizer da inexistncia de controvrsia na jurisdio voluntria. Ocorre que no na controvrsia que est o ncleo principal do instituto, tanto que entre os opostos pode inexistir controvrsia quando se d o silncio da parte demandada; o ncleo principal da oposio est no "pretender", na posio opsita do terceiro, firmado na relao jurdica que sustenta ter com a coisa ou com o direito que est sendo objeto, em juzo, de transmudao de titularidade pela via da jurisdio voluntria. A par disso, no possvel olvidar que na jurisdio voluntria ocorre, sim, em alguns casos, controvrsia. Pontes de Miranda, nos Comentrios ao Cdigo de Processo Civil, expressa lgico e racional posicionamento a respeito, nos seguintes termos: "Quanto aos procedimentos especiais de jurisdio voluntria, no seria de negar a interessado na oposio se o pedido de alienao, arrendamento ou onerao de bens dotais, de menores, de rf os ou de interditos (art. 1.112, III), ou de alienao, locao e administrao de coisa comum (art. 1.112, IV), ou de alienao de quinho em coisa comum (art. 1.112, V), ou de extino de usufruto ou fideicomisso (art. 1.112, VI). Em todas essas espcies, pode acontecer que haja interesse quanto coisa ou quanto ao direito sobre (p. 192) que versa o pedido, porque, citados todos os interessados e o Ministrio Pblico, pode haver controvrsia, a despeito de se tratar de jurisdio voluntria. Nas alienaes judicirias, sempre que uma das partes pedir a alienao judicial, o juiz tem de ouvir a outra parte antes de decidir (art. 1.113, 2). No desquite amigvel, h a descrio dos bens do casal (art. 1.121, I), de modo que pode haver legitimao de terceiro, que pretenda, no todo ou em parte, algum ou alguns ou todos os bens que foram descritos pelos cnjuges. D-se o mesmo no procedimento do desquite litigioso ou do divrcio."{31} 22 - OPOSIO E EMBARGOS DE TERCEIRO Dentre as figuras de uso comum mais equvoco, destacam-se a oposio e os embargos de terceiro. Impe-se o estabelecimento da distino entre ambas. A primeira de natureza opoencial, de conduta ofensiva. A segunda de carter meramente
defensivo, conforme Gabriel de Rezende Filho{32} assim as distingue: "O terceiro embargante defende passivamente sua posse sobre os bens apreendidos ou penhorados por ordem judicial. No se ope s partes litigan 31. PONTES DE MIRANDA. Comentrios ao Cdigo de Processo civil (atualizao legislativa de Sergio Bermudes). 3. ed., rev. e aum. Rio de Janeiro: Forense, t. 1, p. 90. 32. REZENDE FILHO, Gabriel de. Curso de direito processual civil. So Paulo: Saraiva, 1968, v. 1, p. 298. (p. 193) tes, nada tem que ver com a questo litigiosa entre autor e ru ou entre exeqente e executado, trata apenas de obter o levantamento da ordem judicial fazendo com que os bens voltem para seu domnio livres de apreenso, penhora ou ordem de venda judicial." A oposio oferecida at sentena, os embargos podem s-lo a posteriori. 23 - EMBARGOS EXECUO E OPOSIO Admito a oposio nos embargos execuo. Questiona-se quando ao momento do seu oferecimento. Havendo embargos, o opoente ofertar a oposio no prazo de impugnao - dez dias - previsto no art. 740 do Cdigo de Processo Civil. Por isso, a audincia poder no existir e vir logo a sentena, que colocar termo na possibilidade de oferecimento da oposio. Admite-se, ento, que, no sendo ela embargada, o opoente deve deduzir a sua pretenso logo aps findo o prazo de embargos e antes das medidas previstas no art. 680 do Cdigo de Processo Civil. 24 - OPOSIO E DESAPROPRIAO Se no h possibilidade de excluir a pretenso de uma das partes, torna-se impossvel o uso da ao de oposio. o caso, por exemplo, da ao de expropriao em que a pretenso do expropriante no pode ser afastada, por isto de singular importncia a citao de (p. 194) DarCy Arruda Miranda Jnior, DarCy Arruda Miranda, Alfredo Luis Kugelmas, Luiz Alexandre Faccin de Arruda Miranda,{33} onde relatam: "Demais disso, a ao expropriatria, por sua natureza, no se presta incidncia de oposio. Sufragando esse entendimento, o Segundo Tribunal de Alada
Civil de So Paulo, em deciso unnime de sua Segunda Cmara, proclamou que: " inadmissvel o oferecimento de oposio manifestada em processo expropriatrio" (Revista dos Tribunais, v. 505, p. 153). No h mister de profundas indagaes doutrinrias para chegar-se concluso de que a oposio no meio adequado para coarctar a ao expropriatria que a C., visando sobranceiro interesse nacional, move contra J.G.S. e A.V.L.S., porque nela uma das partes, a autora, h de ser necessariamente a expropriante, cujo lugar no processo ningum lhe pode tomar. Assim, por inadmissvel a oposio oferecida em processo expropriatrio, visando excluir apenas uma das partes, mantm-se a deciso impugnada, considerando inaplicvel, no caso, a regra inserida no art. 284 do Cdigo de Processo Civil, que permite a emenda da petio inicial (Salvador, 2 de abril de 1986. Mrio Albiani - Presidente. Ccero Britto Relator (Ac. un. da 3 CCv. do TJ, naAp. 588/82,BF28/111)." 33. MIRANDA JNIOR, Darcy Arruda et al. CPC nos Tribunais. 1994, p. 227-228. (p. 195) 25 - ASSISTNCIA NA OPOSIO Nenhuma dificuldade h em se admitir a assistncia simples ou litisconsorcial na oposio, j que quaisquer delas visam coadjuvar a parte assistida, no processo, na medida maior ou menor do interesse que tm sobre o bem de vida em disputa, ou pela sentena com sua repercusso na esfera jurdica do assistente, em razo de relao com seu assistido. 26 - AO RESCISRIA E OPOSIO No h por que negar a possibilidade de admisso de ao rescisria de sentena proferida em ao de oposio, desde que presentes os seus motivos autorizadores, elencados expressamente pelo legislador processual ptrio. preciso se distinga, no caso de rescisria, a sentena como ato judcio-procesSUal atravs do qual o Estado-Juiz diz o direito das partes; da sentena, posto que ato tambm judcio-processual, mas pelo qual o Estado-Juiz simplesmente homologa a vontade manifesta pelas partes. No primeiro caso, para desfazimento do ato sentencial, desde que verificadas as
ocorrncias de prevaricao, concusso ou corrupo do juiz; impedimento ou incompetncia do seu prolator; dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou de coluso entre as partes, a fim de fraudar a lei; ofensa coisa julgada; violao literal de disposio legal; prova, cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou provada na prpria ao rescisria; que, depois da sentena, o autor obtiver documento novo, cuja existncia ignorava, ou de que no pode fazer uso, capaz, por si s, de lhe assegurar pronunciamento favorvel; houver fundamento para invalidar confisso, (p. 196) desistncia ou transao em que se baseou a sentena; fundada em erro de fato, resultante de atos ou de documentos da causa (art. 485, I a IX, do CPC), impe-se a propositura de ao rescisria. No segundo caso, desde que a sentena tenha sido ato de mera homologao das vontades das partes, ser desfeita da mesma maneira como se a fez. a inteligncia do art. 486 do Cdigo de Processo Civil, com a seguinte redao: "Os atos judiciais, que no dependem de sentena, ou em que esta for meramente homologatria, podem ser rescindidos, como os atos judiciais em geral, nos termos da lei civil." 27 - A OPOSIO NO DIREITO PORTUGUS Entre os portugueses, a oposio voluntria remonta s Ordenaes Filipinas, no seu Livro III, Ttulo XX, inciso XXXI. Por algum tempo deixou de existir entre os lusitanos, suprimida que foi na Nova e Novssima Reforma Judiciria, bem assim no Cdigo de 76, que, por seu turno, s admitia a oposio no processo especial de simples separao de bens, instrumentalizando, assim, o art. 1.228 do Cdigo Civil de ento. Na atual legislao processual civil, restaurou-se o instituto que hoje est regulado no art. 342, com a seguinte redao: "Estando pendente uma causa entre duas ou mais pessoas, pode um terceiro intervir nela como opoente para fazer valer um direito prprio, incompatvel com a pretenso do autor. A interveno do opoente s admitida enquanto no estiver (p. 197) designado dia para a discusso e julgamento da causa em 1 instncia ou, no havendo lugar a audincia de julgamento, enquanto no estiver proferida sentena."
Por esse dispositivo definiu-se o figurante do plo passivo da ao de oposio e o momento processual em que a mesma deve ser oferecida. Aponta o eminente processualista Jos Alberto dos Reis{34} trs caractersticas da oposio: "1) sob a forma de incidente, o opoente prope uma verdadeira aco, quer dizer, atravessa-se, como autor, num processo que est a correr entre outras pessoas; 2) com a sua aco tem em vista fazer valer um direito prprio; 3) este direito sempre incompatvel com a pretenso do autor e pode s-lo tambm com a pretenso do ru. Primeira caracterstica - Pereira e Souza definia assim a oposio: o libelo que um terceiro forma em juzo contra o autor, ou contra o ru, ou contra ambos. O opoente faz as vezes de autor (Primeiras Linhas, v. 1, 72 e 154). Assim , na verdade. Est pendente uma aco entre A e B; C intervm nela como opoente e a sua interveno traduz-se nisto: o direito que o autor pretende fazer valer contra o ru, pertence-me a mim exclusivamente, ou pertence-me tambm a mim. Fazendo esta alegao, o opoente prope realmente, atravs do mecanismo do incidente, uma verdadeira aco, dirigida contra os litigantes da causa principal. 34. REIS, Jos Alberto dos. Cdigo de Processo Civil anotado, 1948, v. 1. (p. 198) Segunda caracterstica - O opoente faz valer um direito prprio. Nisto se distingue nitidamente da assistncia. Sobre a natureza do direito, nenhumas limitaes estabelece a lei. A oposio tanto pode ter por objecto um direito real, como um direito de crdito. O n. 31 do ttulo 20 do Livro 3 da Ordenao dava a entender que a oposio s tinha cabimento na esfera dos direitos reais; mas no h razo para este limite. O que importa que o opoente se proponha fazer valer qualquer direito prprio sobre a matria da causa pendente. Terceira caracterstica - O direito que o opoente se arroga h-de ser incompatvel com a pretenso do autor. Este trao distingue a oposio da figura da interveno principal; nesta o interveniente faz valer um direito paralelo ao do autor, e portanto compatvel com o deste." O processualista Eurico Lopes Cardoso{35} leciona: "No requerimento inicial da oposio, deve o opoente, alm de pedir para ser admitido a intervir nesta
qualidade: a) formular o seu pedido imcompatvel com a pretenso do autor; e b) contestar esta pretenso. Assim, o requerimento exerce funes duma verdadeira petio inicial, dirigida, certo, contra as partes j em causa, mas em que se deduz um pedido inteiramente novo, embora com mesmo objeto que o do autor." 35. CARDOSO, Eurico Lopes. Manual dos incidentes da instncia em processo civil. 2. ed., Coimbra: Almedina, 1965, p. 162-163. (p. 199) 28 - OPOSIO PROVOCADA Inexiste entre ns a oposio como forma de interveno provocada, como si acontecer no direito lusitano. O direito portugus conhece a oposio provocada na hiptese que verse sobre prestao de coisas, quando o demandado esteja pronto a satisfazla, mas tem conhecimento de que um terceiro o verdadeiro titular do direito sobre a coisa, incompatvel, por isso, com o do autor. Nessa situao, o requerido, no prazo de contestao, requer que o terceiro seja citado para deduzir a sua pretenso. Em nvel historicista, a oposio provocada remonta a adcitatio do direito cannico. Lopez-Fragoso{36} faz o seguinte registro a respeito: "La adcitatio es una figura desconocida en el derecho romano, apareciendo en la historia jurdico procesal como un instituto del derecho cannico, sobre la base que le brinda el antiguo proceso germnico y la prctica procesal de determinados territorios del derecho longobardo. El origen remoto de la adcitatio hay que conectarlo con el carcter universal del proceso germnico frente a la singularidad del proceso romano. El derecho cannico, siguiendo la praxis del derecho feudal, comienza utilizando la adcitatio como mecanismo para garantizar la inatacabilidad de las resoluciones judiciales que se dictaran sobre cuestiones de beneficios eclesisticos o controversias sobre atribucin de fundos, dotando de seguridad a tales resoluciones frente a las 36. ALVAREZ, Lopez-Fragoso Tomas. Op. cit., p. 21-22. (p. 200) posibles reclamaciones que determinadas personas pudieran esgrimir en su contra, oponindose, activa o pasivamente, a la atribucin de los fundos o a la sucesin de un beneficio. El
mecanismo de la adcitatio en este sentido era el siguiente: suscitndose un proceso en el que se controvertiera sobre el derecho de propiedad de un determinado fundo o a la sucesin de un beneficio eclesistico, y temiendo la posible oposicin de un tercero, el cual pretendiera para s el dominio o el derecho sucesorio, se pide al juez que cite a los actos procesales a tales terceros, y tambin a todos aquellos que afirmaran tener un mejor derecho que el solicitante, a fin de que ejercitaran en consecuencia sus pretensiones sobre el fundo o el beneficio controvertido, oponindose al solicitante originario en el juicio por el incoado y, en todo caso, quedando vinculados a la sentencia que se pronunciam sobre tal controversia, no pudiendo sostener posteriormente su derecho ni oponerse a la anterior sentencia." No direito portugus, tal figura foi admitida pela primeira vez no Cdigo de 1939, no art. 352, atualmente no art. 347. O eminente Juiz-Desembargador Jacinto Rodrigues Bastos{37} ensina que basta ter o ru conhecimento da existncia de um terceiro em condies de reclamar a prestao como sua, para entrar em dvida quanto titularidade do direito e a ter interesse em que se defina a pessoa do verdadeiro credor. 37. BASTOS, Jacinto Rodrigues. Notas ao Cdigo de Processo Civil. 2. ed., Lisboa, 1971. (p. 201) O Professor Alberto dos Reis{38} fez o seguinte registro: "O art. 352 pressupe que o devedor j foi demandado por um dos pretensos credores, quer pagar, mas no quer correr o risco de pagar duas vezes. Serve-se, ento, do mecanismo da oposio provocada para trazer ao processo o outro ou os outros pretensos credores, a fim de que em litgio entre eles se apure e decida qual o verdadeiro titular do direito de crdito. O incidente estava consagrado no 75 do Cdigo alemo; era admitido pelos processualistas italianos e acha-se hoje no art. 106 do Cdigo italiano. Goldschimidt designava-o por litisdenunciao com possibilidade de interveno principal (Derecho procesal, p. 451) e os escritores italianos dolhe este nome: chamamento de terceiro pretendente (CHIOVENDA. Diritto processuale, p. 1.119, CARNELUTTI. Sistema, v. 1, p. 942)."
Jurisprudencialmente, tem-se assentado entre os lusitanos que "a oposio provocada incompatvel com a contestao, pelo que no pode ser requerida nesta", conforme acrdo do STJ - Portugal, de 19/6/1962." Nesta figura intervencional, sobressai, ainda, a possibilidade de, sendo reconhecida a legitimidade do opoente, assumir este a posio de ru, e o ru primitivo excludo da instncia, se depositar a coisa ou quantia em litgio; no fazendo o depsito, s continua 38. REIS, Alberto dos. Op. cit., p. 502. 39. RT, 80/309. (p. 202) na instncia para, ao final, ser condenado a satisfazer a prestao parte vencedora. a redao do art. 350 do Cdigo de Processo Civil portugus. Admite, tambm, a chamada interveno principal, desde que, estando pendente uma causa entre duas ou mais pessoas, aquele que em relao ao objeto da causa tiver um interesse igual ao do autor ou do ru, pode nela intervir por litisconsorciao voluntria, ou aquele que pudesse coligar-se com o autor. A coligao permitida no direito portugus, entre autores contra um ou vrios rus. a inteligncia do art. 351, combinado com o 27 e 30 do Cdigo de Processo Civil portugus. Aquele estatuto processual cuida, outrossim, no seu art. 356, da interveno provocada, na seguinte hiptese: "Pode tambm, qualquer das partes, chamar os interessados a que se reconhece o direito de intervir, seja como seu associado, seja como associado da parte contrria." Figuras inexistentes no elenco das nossas previses intervencionais e que, fora convir, se houve com acerto o legislador ptrio em no admiti-las, j que a primeira se subsume na legitimidade ativa ad causam, defesa indireta de natureza peremptria que toca, de igual modo, ao demandado argir, enquanto a segunda, j se v satisfeita, entre ns, pela assistncia litisconsorcial. Por acrdo da Relao do Porto, de 24/2/1981,{40} v-se o propsito de distinguir interveno principal de assistncia, nos seguintes termos: 40. Col. Jur., 1981/1-171. (p. 203) "I - O interveniente faz valer um direito prprio, paralelo ao do autor ou do ru. II - A expresso "direito prprio" assinala a diferena entre a interveno principal e a assistncia, em que o assistente vem a juzo unicamente para auxiliar uma
das partes, por ter interesse jurdico em que a deciso do pleito seja favorvel a uma parte. III O adjectivo "paralelo" indica a distino entre aquele incidente e a oposio, em que o opoente vem a juzo para formular pretenso incompatvel com a do autor." V-se, nesse quadro, a assistncia simples ou coadjuvante do nosso sistema. 29 - A OPOSIO NO DIREITO ITALIANO, COMPARADA COM O SISTEMA BRASILEIRO Entre os italianos, a oposio est regulada no art. 105 do Cdigo de Processo Civil, nos seguintes termos: "Qualquer pode intervir num processo pendente entre outras pessoas, para fazer valer, perante ambas ou alguma delas, um direito relativo ao objeto ou dependente do ttulo deduzido no mesmo processo." No direito italiano, o instituto da oposio de aplicaes vrias e em situaes processuais distintas. Dissmil da oposio no sistema jurdico brasileiro, em que o seu sentido uno e de aplicao exclusiva em uma s hiptese, qual seja, aquele em que terceiro (p. 204) afirma-se detentor de melhor direito que as partes litigantes em processo existente. De acordo com o Cdigo de Processo Civil italiano, a oposio mais destinada ao segundo grau de jurisdio, razo pela qual , outrossim, disponvel a terceiro no figurante no processo e pretendente ao desfazimento da deciso nele proferida. o que o legislador italiano chama de oposio revocatria, porquanto pretende a revogao do comando sentencial. Outro o caso do terceiro que se vale da oposio para "intervir" nos "recursos" das partes buscando afastar destas as pretenses recursais. Outro o caso da oposio do terceiro ordinrio que foi atingido pelos efeitos da sentena no processo em que ele no foi parte. Esta figura, a rigor, equivale interveno principal ulterior, j que ofertada aps a sentena, tendo, por conseguinte, a mesma casustica. A oposio de terceiro ordinrio somente ocorre aps a sentena. Se o objeto ou o direito que resulta do ttulo concernir ao oponente, ele dispe da assim chamada interveno principal que, por seu turno, corresponde precisamente a figura da oposio no direito brasileiro. Caso o opoente no ingresse antes da sentena e esta decida algo que o prejudique, resta-lhe a oposio de terceiro ordinrio (art. 404). de se assinalar que para
Liebman a interveno principal no outra seno a oposio de terceiro ordinrio antecipado (art. 404). A oposio no direito brasileiro outro caso. Se o opoente no se opuser e a sentena proferida o prejudica, h o recurso do terceiro interessado. A oposio de terceiro ordinrio ao com caractersticas de incidentalidade. J o recurso de terceiro interessado no ao e nem possui caractersticas de incidentalidade, porquanto recurso. (p. 205) Por fim, a figura da oposio no direito brasileiro encontra o seu correspondente no direito italiano, na figura da interveno principal, de modo que designam a mesma coisa, havendo to-somente uma diferena de nomenclatura, porquanto referem-se ao interveniente que ocorre no curso do processo at a sentena. A oposio como forma de interveno voluntria est art. 105 do Cdigo de Processo Civil italiano. Segundo Zanzuchi e Liebman, este artigo biparte-se nas seguintes hipteses: - interveno de um terceiro que afirma um direito seu relativo ao objeto do processo em face das partes nele litigantes, ou a alguma delas; - interveno de um terceiro que afirma um direito prprio dependente do ttulo deduzido no processo, em face de todas ou a alguma das partes. Para Piero Calamandrei, no entanto, diferindo de Zanzuchi e Liebman, o mesmo artigo quadriparte-se nas seguintes hipteses: "- a primeira, um direito do interveniente relativo ao objeto deduzido no processo, em face de todas as partes; - um direito dependente do ttulo deduzido no processo, em face de todas as partes; - um direito relativo ao objeto deduzido no processo, em face de alguma das partes; - um direito dependente do ttulo deduzido no processo, em face de alguma das partes."{41} 41. CALAMANDREI, Piero. Instituciones de derecho procesal civil segun el nuevo Cdigo. Buenos Aires, 1986, v. 2, p. 317. (p. 206) Agora, porm, se nos reportarmos ontologia do art. 105, poderemos observar que o ncleo do artigo, aquilo que precisamente permite bifurc-lo, o fato de visar proteger os bens de vida: o direito decorrente de um objeto ou decorrente de um ttulo. O fato de se deduzir essa pretenso contra um, dois ou mais no da ontologia do artigo, resultando de melhor aceitao o
entendimento de Liebman e Zanzuchi. 30 - SINPTICA NOO DA OPOSIO ENTRE OS ALEMES Entre os alemes o instituto est no 64 da ZPO: "Quem pretenda ter direito sobre a totalidade ou parte da coisa ou direito em litgio entre outras pessoas pode, at a deciso do pleito, fazer valer o seu direito perante o tribunal de 1 Instncia, a que a causa esteja afecta, por meio de demanda dirigida contra os dois litigantes." Com a oposio passam a existir trs processos: o principal, entre demandante e demandado; o superveniente, do interveniente em face do demandante do processo principal; e ainda do interveniente em face do demandado do processo principal. Disso resulta uma cumulao de aes para tramitao e resoluo comuns. A sentena, nesse caso, ser de natureza declaratria para o demandante da ao principal e condenatria para o demandado da mesma ao, se procedente a oposio. Se improcedente, ser declaratria to-somente. (p. 207) Para os alemes, a oposio , tambm, exerccio de direito de terceiro, que no est obrigado a ela e que pode demandar separadamente. 31 - OPOSIO, DENUNCIAO E ASSISTNCIA - CONCORRNCIA DE AES Tendo em vista as razes ontolgicas, teleolgicas e pragmticas que determinam os institutos da oposio, denunciao da lide e assistncia, a possibilidade de coexistirem vrias figuras intervencionais em um mesmo processo no pode ser ignorada, fazendo transparecer dessa convergncia de pretenses deduzidas o que se denomina de concorrncia de aes na modalidade concursus cumulativus. Tome-se por caso a seguinte hiptese: A prope em face de B ao reivindicatria de imvel. Para garantir-se dos prejuzos que da evico possa lhe resultar, A denuncia lide o seu alienante A1. B, ao responder, tambm para garantir-se dos prejuzos que da evico possa lhe resultar, denuncia lide B1. Antes de proferida sentena, C se ope aos demandados originrios sob a alegao de que o imvel no lhes pertence, sim a si prprio. Veja que C no se ope aos denunciados pelas partes originrias porque, em face delas, no tem ao de oposio, uma vez que elas no esto na relao processual afirmando serem dela o imvel. Esto, sim, exclusivamente, na condio de
alienantes dos atuais ditos proprietrios. Contudo, desde que C ingressa na relao processual de A e B na condio do opoente, acautelando-se, por isso que ha- (p. 208) ver uma sentena a seu respeito, denuncia lide o seu alienante D, porque teme a sucumbncia e pretende, de igual modo, garantir-se quanto aos prejuzos que da evico possam lhe resultar. Por fim, pode dar-se que o sujeito E se oponha a A, B e C, afirmando ser dele o bem, e no de qualquer dos seus demandados. C, igualmente, pode denunciar lide o seu alienante. No se ignore uma complicao maior: todos podem estar assistidos, quer por assistentes simples ou assistentes litisconsorciais, conforme seja a relao jurdica de cada assistente com o bem de vida em disputa. Outros opoentes ainda podem se opor, outros ainda podem ser denunciados, e outros assistentes ainda podem existir. Veja o quanto as figuras intervencionais podem dar-se a um s tempo e provocarem uma relao subjetivoprocessual-complexa, que no cabe ao juiz impedir porque todos os envolvidos esto exercitando direito subjetivo e constitucional de ao. (p. 209) (p. 210, em branco) Captulo II - DENUNCIAO DA LIDE CHAMADA LIDE A par da oposio, tambm interveno principal, restam trs outras figuras. ditas de interveno nominada, quais a denunciao da lide, a nomeao autoria e o chamamento ao processo. Estes institutos podem ser agrupados em uma s categorizao: todos so formas especiais da adcitatio. O primeiro, para garantir-se em ao de regresso em razo de um eventum litis (denunciao da lide, tambm chamamento em garantia); o segundo, para assegurar-se de direito que lhe toca em parte (no plano dos co-fiadores) ou no todo (no plano do devedor principal) decorrente de obrigao assumida (chamamento ao processo); o terceiro, para eximir-se de responsabilidade em situao ftica que no lhe toca diretamente (laudatio ou nominatio auctoris). O TEXTO DA LEI "Art. 70. A denunciao da lide obrigatria:
I - ao alienante, na ao em que terceiro reivindica a coisa, cujo domnio foi transferido parte, a (p. 211) fim de que esta possa exercer o direito que da evico lhe resulta; II - ao proprietrio ou ao possuidor indireto quando, por fora de obrigao ou direito, em casos como o do usufruturio, do credor pignoratcio, do locatrio, o ru, citado em nome prprio, exerce a posse direta da coisa demandada; III - quele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ao regressiva, o prejuzo do que perder a demanda. Art. 71. A citao do denunciado ser requerida, juntamente com a do ru, se o denunciante for o autor, e, no prazo para contestar, se o denunciante for o ru. Art. 72. Ordenada a citao, ficar suspenso o processo. 1. A citao do alienante, do proprietrio, do possuidor indireto ou do responsvel pela indenizao farse-: a) quando residir na mesma comarca, dentro de dez (10) dias; b) quando residir em outra comarca, ou em lugar incerto, dentro de trinta (30) dias. 2. No se procedendo citao no prazo marcado, a ao prosseguir unicamente em relao ao denunciante. (p. 212) Art. 73. Para os fins do disposto no art. 70, o denunciado, por sua vez, intimar do litgio o alienante, o proprietrio, o possuidor indireto ou o responsvel pela indenizao e, assim, sucessivamente, observando-se, quanto aos prazos, o disposto no artigo antecedente. Art. 74. Feita a denunciao pelo autor, o denunciado, comparecendo, assumir aposio de litisconsorte do denunciante e poder aditar a petio inicial, procedendo-se em seguida citao do ru. Art. 75. Feita a denunciao pelo ru: I - se o denunciado a aceitar e contestar o pedido, o processo prosseguir entre o autor, de um lado, e de outro, como litisconsortes, o denunciante e o denunciado; II - se o denunciado for revel, ou comparecer apenas para negar a qualidade que lhe foi atribuda,
cumprir ao denunciante prosseguir na defesa at final; III - se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor, poder o denunciante prosseguir na defesa. Art. 76. A sentena, que julgar procedente a ao, declarar, conforme o caso, o direito do evicto, ou a responsabilidade por perdas e danos, valendo como ttulo executivo." (p. 213) 1 - INTRODUO Na busca do sentido do texto legal sobre o instituto da denunciao, na tentativa de encontrar o nexo entre os seus componentes ontolgicos e teleolgicos, muito especialmente visando sua assero, sua integrao microcsmica no universo do mundo jurdico, no se pode desprezar o critrio de interpretao histrica. Do ngulo da literalidade, aparentemente no h o que se questionar no instituto. Contudo, do momento em que outras figuras se mesclam no curso de sua efetiva ocorrncia na prtica, perde-se dele a clareza e impe-se ao estudioso o adentramento nos escaninhos do seu esprito, na expectativa de l poder-se encontrar as suas razes de ser com vistas no seu para que ser. 2 - DENUNCIAO - CONCEITO Denunciao o instituto de que dispe a parte figurante na relao processual, ativa ou passiva, para fazer valer direito seu perante terceiro, a fim de garantir-se da reparao do prejuzo que da evico, ou de uma relao jurdica, tornada patolgica, prejudicial ao sujeito denunciante, possa resultar. 3 - HISTRICO 3.1 - A denunciao no antigo direito romano Remonta ao antigo direito romano, precisamente no perodo per formulas, e decorria das vendas feitas (p. 214) pela traditio.{42} Nessa ocasio surgiu a necessidade de o adqirente denunciar lide o vendedor, caso pretendesse o valor da actio empti na hiptese de evico. Era condio necessria para que o comprador exercitasse direito de regresso contra o vendedor. Piero Calamandrei, em Sulla Chiamata in Garantia, faz o seguinte registro: "Questa litis denunciatio era condizione necessaria
per conservare al compratore lazione di regresso contra il venditore...". A par da denunciao para garantia do direito de regresso em razo da evico, conheceram, tambm, os romanos, a denunciao nas obrigaes em que o fidejussor se obrigava por outrem, na hiptese de inadimplemento da obrigao na data aprazada. Sendo acionado o garantidor e no o garantido, porque tal alternativa existia, devia cientificar o devedor do fato, a fim de que, assim, pudesse, posteriormente, exercer o seu direito de regresso. Duas eram, pois, as hipteses que comportavam denunciao no direito romano, e em quaisquer delas ao denunciante era dado continuar no processo, mesmo aceita a denunciao pelo denunciado. 3.2 - A denunciao no direito germano- barbrico Entre os germano-barbricos outro era o quadro. O comprador demandado chamava em garantia o vendedor que, aceitando o chamamento, assumia o pro 42. Relativas s res nec mancipi, do direito das gentes, pela qual fazia-se a transferncia consensual da posse, visando aquisio da propriedade. Traditio, diz Juan Eglesias, significa entrega: "La entrega de la cosa es el modo ms antiguo y natural de enajenacin "de res nec mancipi"" (Derecho romano, historia e instituciones. 11. ed., Barcelona: Ariel, 1994, p. 258). (p. 215) cesso e tornava-se parte legtima para contrariar a pretenso do autor, excluindo-se, assim, o denunciante, a quem no se permitia atuar, ao menos, como assistente.{43} 3.3 - Pontos comuns e dissmeis do instituto nos dois povos Os direitos romano e germnico tinham, na denunciao, pontos comuns e dissmeis. Eram comuns quanto obrigatoriedade de denunciar. Eram dissmeis quanto ao direito de permanecer, ou a obrigao de deixar a relao processual. Explica-se a dessemelhana. Entre os germnicos, o denunciado assumia a obrigao da defesa e, se vencido, ao depois, o ressarcimento, na mesma ao. Entre os romanos, a ao de ressarcimento era
proposta autonomamente, posteriormente, caso o denunciante sucumbisse. Afirma-se, em razo disso, que o nosso modelo de denunciao reflete o pensamento dos povos germano-barbricos. 3.4 - A denunciao no Cdigo do Estado da Cidade do Vaticano O Cdigo do Estado da Cidade do Vaticano prev uma figura de interveno de terceiro por provocao em caso de ao de repetio ou em caso de jactncia 43. CALAMANDREI, Piero. La chiamata in garantia. Milo: Societ Editrice Libraria, 1913, p. 37. (p. 216) de pretenses. uma figura com caracteres gerais do chamamento em garantia, por isso o 2, do art. 17, do aludido Cdigo dispe: "El demandado puede tambin, en el juicio pendiente en primer grado, llamar a un garante, o llamar a un tercero, cuando contra ste, en caso de vencimiento, haya una accin de repeticin, o bien cuando el tercero se jacte de pretensiones sobre el bien que constituye el objeto de la litis." 3.5 - A denunciao no direito italiano No direito italiano, a questo da chamada em garantia (denunciao da lide) est regulada nos seguintes dispositivos legais (traduo espanhola): Art. 1.485 do Cdigo Civil italiano: "El comprador demandado por un tercero que pretende tener derecho sobre la cosa vendida, debe lamar en causa al vendedor Cuando no lo haga y sea condenado por sentencia basada en autoridad de cosa juzgada, pierde el derecho a la garanta, si el vendedor prueba que existan razones suficientes para hacer rechazar la demanda. El comprador que ha reconocido espontneamente el derecho del tercero, pierde el derecho a la garanta, si no prueba que no existan razones suficientes para impedir la eviccin." Art. 106 do Cdigo de Processo Civil: "Cada una de las partes puede llamar al proceso a un tercero respecto del cual considera (p. 217) comn la causa o por el cual pretenda estar garantizada." Art. 108 do Cdigo de Processo Civil: "Si el garante comparece y acepta asumir la causa en lugar
del garantizado, ste puede pedir cuandas las otras partes no se opongan, la propia extromisin. Esta se dispone por el juez por medio de ordenanza; pero la sentencia de fondo pronunciada en el juicio, despliega sus efectos tambin con quien ha sido objeto de extromisin." Art. 32 do Cdigo de Processo Civil: "Causas de garanta. La demanda de garanta puede proponerse al juez competente para conocer de la causa principal, a fin de que la decida en el mismo proceso, aun cuando exceda de su competencia por razn del valor". Luis Mattirolo{44} ensina que a chamada em garantia supe sempre um obrigado e implica a idia da demanda eventual de condenao do garantidor; a simples chamada, ao contrrio, s para a interveno implica unicamente a idia de uma comunicao de direitos e de obrigaes entre o terceiro chamado a intervir e um dos litigantes na ao originria. Sobre a chamada em garantia, Chiovenda construiu a sua teoria substancial. Segundo o mestre italia 44. MATTIROLO, Luis. Tratado, t. 3, p. 625. (p. 218) no, a chamada em garantia se d quando a parte figurante em um dos plos da relao processual chama ao processo terceiro, em face do qual afirma ter ao regressiva, caso sucumba na ao de molstia. a nfase maior da teoria. Assim que, atendendo aos princpios da economia, eventualidade e harmonia processual, o contedo substancial - o dever de garantir - constitui o objeto da ao de regresso que se exercita no bojo da prpria ao principal. Essa ao tem como caractersticas especiais um elemento temporal ou de oportunidade e outro elemento substancial ou de contedo, por isso que ela proposta antecipadamente, ficando a apreciao do seu objeto condicionada sucumbncia do diamante nos autos da ao-base. A teoria chiovendiana compe-se de dois elementos distintos, que se complementam. No primeiro elemento esto a simples chamada, tambm a chamada em garantia no sentido estrito e a chamada em causa, ou a litisdenunciao. No segundo elemento, est a chamada em garantia, portanto, alm da litisdenunciao, da chamada em causa, da chamada em garantia no sentido estrito e da simples chamada, o chamante exercita, concomitantemente, uma ao de regresso, antecipada e condicionada, em face do terceiro garantidor. As duas
aes, no mesmo processo, so conexas por prejudicialidade e por dependncia. Assim que a teoria substancial de Chiovenda funda-se, precipuamente, no princpio de que na chamada em garantia ocorre o exerccio antecipado e eventual de ao de regresso, cujos protagonistas so o garantido e o garantidor. Ainda sobre a chamada em garantia, Piero Calamandrei construiu a sua teoria processual. Ele foi (p. 219) mais minudente e chegou concluso dissmil daquela a que chegou Chiovenda. Trata-se de teoria complexa. Na teoria de Calamandrei, sobressaem com nfase o processo de molstia e o processo de garantia. Daquele resulta um prejuzo para o garantido, deste resulta a prpria relao de garantia. Esta, a turno seu, compreende a obrigao, por parte do garantidor, de defesa em juzo - quando chamado - e, eventual e conseqentemente, o ressarcimento dos danos que o no-cumprimento da obrigao de defesa possa produzir ao garantido. Assim, a ao de garantia estar bipartida em ao de defesa, cujo objeto o provimento jurisdicional sobre a obrigao de defesa do garante; e a ao de ressarcimento, cujo objeto o provimento jurisdicional sobre a obrigao de ressarcimento. A teoria processual de Calamandrei conclui pela possibilidade de se exercitar a ao de garantia pela via principal e, outrossim, pela via incidental. Pela via principal, o sujeito garantido, ou seja, aquele que figurou no processo de molstia e sucumbiu, exerce, regressivamente, a ao de garantia em um outro processo. Nesse processo segue-se o mesmo procedimento observado no processo de molstia: a defesa e o ressarcimento. Pela via incidental, o sujeito pode fazer valer o seu direito no bojo do prprio processo de molstia, o que se dar incidentalmente. Contudo, no caso de chamada em garantia de carter incidental, no entende Calamandrei que ela seja simplesmente composta dos elementos litisdenunciao e o exerccio eventual da ao de ressarcimento, como quer a teoria substancial. No. A medida dos seus elementos componentes mais extensa. Assim, a chamada em garantia, via incidental, compreende a chamada em causa, o exerccio da ao de (p. 220) defesa e o exerccio da ao de ressarcimento. A chamada em causa uma modalidade de ato processual
que obriga o chamado a intervir no processo e prestar a sua defesa, portanto, no to singela como a litisdenunciao.{45} O exerccio da ao de defesa compreende o exerccio da pretenso por parte do garantido, que impe ao juiz que se manifeste sobre a obrigao que tem o garantidor-chamado de prestar a defesa, caso o mesmo se negue a faz-la.{46} E, por fim, o exerccio da ao de ressarcimento. V-se que a construo de Calamandrei , sim, complexa, compreendendo a ao de garantia nos elementos: a) processual (obrigao de defesa) e b) substancial (obrigao de ressarcimento). As referidas teorias sobrevivem s crticas e ocupam posio de destaque no universo doutrinal italiano. De Chiovenda assimilamos mais. 3.6 - A denunciao do direito alemo " 72. Toda parte de un proceso que, en el caso de resolverse ste en perjuicio de ella, crea que puede ejercitar una accin de garanta o de repeticin contra un tercero, o que acte cuidando del derecho de un tercero, puede denunciar judicialmente al tercero la pendencia de la causa, 45. A litisdenunciao significa para o litisdenunciado a impossibilidade de argir em defesa posterior a exceo de m gesto processual no processo de molstia, enquanto que a chamada em causa no s tem o mesmo significado da litisdenunciao, como tambm implica a produo dos efeitos da coisa julgada sobre o chamado. 46. A obrigao de defesa no seria uma obrigao de resultado, sim, to e s, de atividade, por isso que por ela o garante no estaria obrigado a lograr vitria do garantido no processo de molstia seno em coadjuvar com este com vistas em uma sentena sua favorvel. (p. 221) hasta el momento de la resolucin firme de la misma. El tercero puede, a su vez, denunciar la causa a otra persona. 73. La denuncia del litigio se har por medio de escrito notificado al tercero, en el cual se indicar el motivo de la denuncia y el estado de la causa. De este escrito se pasar una copia a la parte contraria. 74. Si el tercero entra en la causa com el
litisdenunciante, su relacin con respecto a las partes se regir por los preceptos reguladores de la intervencin adhesva. Si el tercero se niega a intervir o no hace ninguna manifestacin, la causa seguir su curso sim l. En todos los casos enunciados en este pargrafo se aplicarn contra el tercero los preceptos del 68, pero en vez de atenderse al tiempo de la intervencin se tendr em cuenta aquel em que fuera posible la intervencin por efecto de la denuncia. 68. El interveniente adhesivo, para los efectos de su relacin con la parte principal, no ser odo con la afirmacin de que la causa, tal como le ha sido presentada al juez, ha sido resuelta con error; slo ser odo si afirma que la parte principal ha llevado mal la causa, cuando por el estado de la misma al tiempo de su entrada en ella o por las manifestaciones y actos de la parte principal, haya estado impedido de ejercitar medios de ataque y defensa, o cuamdo la parte (p. 222) principal, intencionadamente o por negligencia grave, no haya uso de medios de ataque y de defensa que l no conoca." Sobre o tema, James Goldschmidt ensina: "Cuando una parte litigante estima que, em el caso de sucumbir en el proceso, tiene derecho a ejercitar una accin de garanta (verbigracia, el comprador vencido, contra el vendedor), puede denunciar al tercero, hasta el momento del fallo del negocio, la pendencia de la causa, por medio de escrito." Adolfo Schonke, por seu turno, diz que: "La litisdenunciacin es la comunicacin formal de la pendencia de uma causa dirigida por una de las partes de la misma a um tercero. Com ella no se ejercita una verdadera accin procesal, segn ha declarado el Tribunal Supremo." Sobre a legislao alem, Lopez-Fragoso, em excelente trabalho, extraiu as seguintes concluses: "No puede afirmarse simplemente que la denuncia del litigio alemana suponga el instrumento procesal equivalente a la llamada em garanta del derecho italiano. Y ello, no tanto por la falta del contenido defensivo en la denuncia alemana, ni por la imposibilidad para sta de acumular la accin de indemnidad al procedimiento del proceso principal - aqu no cabe hablar em rigor (p. 223)
de proceso de molestia -, sino, principalmente, por la propia estructura y efectos de la denuncia alemana. En este sentido no cabe equiparar la llamada en causa, entemdiendo a sta como simple llamada sin ejercicio de pretensin al modo chiovendiano, com la denuncia del litigio alemana, como mera comunicacin de la pendencia del proceso, siendo los fines y efectos de una y otra totalmente diversos. Pero tampoco cabe presentar a la denuncia ex 72 ZPO como el equivalente alemn de la litisdenumciacin del derecho italiano. De tal manera que, siendo de mayor complejidad la investigacin a desarrollar habr que considerar a la denuncia del litigio de la ZPO alemana como un instituto procesal distinto, por estructura, efectos y presupuestos, de la llamada en causa ex art. 106 CPC italiano, si bien, en cierta medida, pueden perseguir ambos institutos una funcin semejante, aun cuando se intente alcanzar dicha funcin en cada sistema procesal respectivo por diversos medios y distinto camino. La comparacin entre la denuncia del litigio ex 72 ZPO y la llamada en causa ex art. 106 CPC tanto por comunidad de causa como por lamada en garamta propia e impropia - se fundamenta en la funcin que, directa o indirectamente, pretenden cumplir tales institutos procesales. Esto se ve reflejado en su respectivo mbito de utilizacin, o sea, en consideracin a las diversas hiptesis que encuentran encaje dentro de sus presupuestos y puedem asi cumplir su fines. Es decir, no slo nos casos de distintas relaciones (p. 224) jurdicas substanciales con diversidad de sujetos y conexas por prejudicialidad-dependencia, a los cuales les correpondera la nocin de regreso propia de la garanta estricta e de los simples supuestos de resarcimiento, sino tambien las hiptesis ms compejas con son la existencia (afirmada) de relaciones alternativas, supuestos stos no encajables, con rigor, en la funcin de la llamada en garanta impropia, pero que a finos prcticos tampoco pueden equipararse a la concepcin italiana de la litisdenunciacin como simple llamada sin ejercicio (alternativo o eventual) de una pretensin procesal. Ello es consecuencia de los afectos caractersticos y peculiares de
la denuncia del litigio del derecho procesal civil alemn - 68 ZPO -, efectos que permiten considerar a la denuncia ex 72 ZPO como un mecanismo procesal complejo, con una estructura abstracta, que el legislador alemn de 1877 instituye para alcamzar le afectividad del derecho a la tutela judicial, en coherencia con su modelo "pandectstico" del proceso civil, y en concreto con su modelo de la intervencin adhesiva. La intervencin adhesiva de terceros del derecho procesal civil alemn, en coheremcia son su sistema de jurisdiccin civil, se estructura cordinando un primmer proceso que tiene por objeto una relacin conexa por prejudicialidad/ dependencia com una distinta relacin jurdica sustancial de la que es titular un tercero, pudiendo ste intervenir en aquel proceso, pero sin adquirir la condicin ni los poderes propios a las partes procesales, considerndose con simple (p. 225) coadyuvante - tanto para la intervencin adhesiva simples como para la litiscomsorcial -, y um segundo proceso, que pueda surgir posteriormente entre una de las partes y el tercero coadyuvante (o litisdenunciado) del primer proceso, controvertindose en este segundo proceso la relacn existente entre ellos - conexa por prejudicialidad-dependencia con el objeto de primer proceso -, la cual queda prejulgada por los efectos especiales de la intervencin o de la litisdenunciacin ex 72 ZPO, em correspondencia con la posible actuacin que la parte principal o denunciante del primer proceso haya permitido desplegar al tercero coadyuvante o denunciado de la pendencia de primer proceso. Siendo los afectos especiales del 68 ZPO el elemento esencial para configurar la denuncia del litigio del derecho procesal alemn, y comstituyendo tales afectos el afecto de la intervencin adhesiva de hecho, es decir el afecto que produce la efectiva participacin del tercero en el proceso pendiente - o la denuncia del litigio, em cuanto provocacin a la intervencin, com imdepemdemcia de que se produzca efectivamente o no la participacin del la tercero denunciado -, cabe diferenciar con todo, la denuncia de llitigio y la intervencin adhesiva voluntaria, pudindose afirmar que los afectos especiales del 68 ZPO encuentran su aplicacin concreta y propia, no
tanto para la intervencin voluntaria, cuanto para la denuncia del litigio. Y ello, en primer lugar, por un dato fctico que descansa en la evidencia de que el tercero, posible nterviniente (p. 226) adhesivo voluntario, al seles efectivamente perjudiciales tales afectos del 68, ZPO, hura de participar efectivamente en el proceso pendiente, y, por el contrario, siemdo tales afectos beneficiosos para la parte procesal, sta, pudiendo alcanzarlos mediante la denuncia de la pendencia de la proceso, efectuar tal denuncia al tercero. Pero, en segundo trmino, tambin por un dato de importancia dogmtica, cuales la diferencia existente entre los meros afectos reflejos (presupuesto de la intervemcin adhesiva simple voluntria) y los afectos especiales de la intervencin (afectos de la intervencin afectiva del tercero o de su litisdenunciacin) substancia sobre la que descansa el anterior dato factico. Assin, por ejemplo, el titular (afirmado) de una relacin alternativa, esto es, excluyente de la relacin controvertida entre las partes, no esta vinculado realmente por los efectos de la sentencia en nu proceso en el que no imtervino. Adems, por la propia estructura de la conexin alternativa entre diversas relaciones jurdicas con distintos titulares y por la estructura de la imtervencin alemana, la vinculacin para el tercero titular de la relacin alternativa conexa con el objeto de um proceso pendiente en el que no se conoce de su relacin, no ser eficaz para evitar posibles contradicciones prcticas entre la sentencias si simplesmente se le vincula a la parte dispositiva de la sentencia que se decide este proceso. En este sentido, la doctrina y jurisprudencia alemanas realizan una interpretacin extensiva del 72 ZPO (sobre la base del contenido de los (p. 227) efectos de la denuncia ex 68 ZPO), configurando la situacin legitimante para una denuncia del litigio flexiblemente, o sea, no limitando la facultade denunciar el litigio un tercero consecuentemente, de producir frente a ste los efectos del 68 ZPO - a los estrictos casos de de conexin por prejudicialidad/dependencia entre diversas relaciones jurdicas, sino tambin para los supuestos de conexin alternativa excluyente. Por ello, ha de diferenciarse, por um
lado, la intervencin adhesiva voluntria y la denuncia del litigio, y, por otro, entre efectos reflejos - en el sentido de afectos de hecho para el tercero basados en la dependencia sustancial civil o Thatbestandwirkung - y efectos de la intervencin efectiva o de la denuncia del litigio alemana. Sobre esta base, habr de distinguirse le supuesto general y ordinario de la denuncia del litigio (Sreitverkundung) del 72 ZPO, el cual supone una facultad de la parte de un proceso pendiente, en cuanto le permite alcanzar el beneficio de los efectos especiales de la intervencin efectiva o de la litisdenunciacin regulados en el 68 ZPO, y los supuestos excepcionales que consideran la denuncia COmo una obligacin o una carga especial para la parte. As, existen supuestos concretos en la ZPO de litisdenunciacin obligatoria, com es el regulado en el 841. Adems, un caso especfico, no de denuncia, pero si de citacin a intervir, en cuanto carga especial que sufre la parte procesal, se contiene en el 856.3, en relacin con el 856.4. (p. 228) Como ya se ha expresado, la ZPO desconoce cualquier tipo de llamada o intervencin coactiva de tercero por orden del juez; sin embargo, el 640 e, y en un sentido similar el 666.3, regulan unos supuestos excepcionales de citacin de oficio a un tercero - la denominada Beiladumg - As, el 640 e se refiere al caso de un proceso que tenga por objeto una accin de estado civil, concretamente una accin de reconocimiento de paternidad, y prescribe, para el supuesto de que uno de los padres, en su caso el hijo, no participen en el proceso, su citacin por orden del juez. Con todo, aparte del carcter excepcional de tales normas, estas supuestos no constituyen realmente una imtervemcin iussu iudicis, sino una simple citacin a intervir ordenada de oficio por el rgano judicial. Desde otra perspectiva, el problema de la eficacia de la legitimacin extraordinaria que tienem reconocida determinados terceros para hacer intervencin adhesiva - simple o litisconsorcial voluntaria, en cuanto mecanismo garantizador de los derechos e intereses jurdicos de aquellos terceros que pueden verse afectados por los
efectos reflejos o directos de una sentencia que resuelve un proceso en el que no participaran (y en el que no era necesaria su convocatoria), plantean el problema de la virtualidad de denuncia del litigio ex 72 ZPO para garantizar eficazmente el derecho de audiencia reconocido en el art. 103.1 de la Constitucin alemana (G.G.). Cuestin sta que ha dado lugar a determinados propuestas y soluciones de la doctrina (p. 229) y jurisprudencia alemanas, intentando coordinar el derecho fundamental del art. 103 I G.G. con la utilizacin - forzada - del mecanismo de la denuncia del litigio del 72 ZPO. Algunos autores, siendo ineficaz tal mecanismo para garantizar eficazmente el derecho de audiencia, defienden una utilizacin extensiva del instituto de la Beiladung fuera de su mbito estricto. Como supuestos especiales de imtervencin provocada habrn de estudiarse los institutos del litigio entre pretendientes ( 75 ZPO) y de la nominatio auctoris ( 76 y 77 ZPO), los cuales son considerados por la doctrina dominante alemana como casos especiales de denuncia del litigio, pero que, al menos cuando el autor nominado o el tercero pretemdiente intervienen en el proceso, rebasan claramente la estructura y efectos de la mera denuncia ex 72 ZPO, dejando ver con ello que, al menos excepcionalmente, tambin el derecho procesal civil alemn contiene elementos o manifestaciones concretas de intimacin a participar em um proceso pendiente propias de la figura de la adcitatio." Da lei e doutrina alem, a turno seu, extraiu as seguintes concluses: "Primera: para los alemanes la litisdenuntiatio puede ser utilizada para hacer viable la intervencin litisconsorcial, la intervencin principal y adems para la figura de la laudatio nominatio auctoris. (p. 230) Segunda: Para el tema que interesa, en Alemania, la denuncia del pleito es una simple comunicacin; no est prevista la posibilidad de condenar en el mismo proceso al llamado. Tercera: Si el denunciado decide intervenir en el proceso, se le recibir como interviniente adhesivo. Cuarta: Si el receptor de la denuncia no se adhiriese
al denunciante del litigio, la causa proseguir sin tenerlo en cuenta. Pero la sentencia, a pesar de esto y aun cuando el receptor de la denuncia se adhiera al adversario del denunciante del litigio, tendr el mismo efecto para un futuro proceso entre l y el denunciante del litigio que si se hubiese adherido a este ltimo; slo que tambin aqu decide el tiempo en que fue posible la adhesin a consecuencia de la denuncia del litigio para la excepcin de gestacin procesal defectuosa. Quinta: En la legislacin alemana la citacin tiene por objeto que la sentencia que se dicte en ese proceso afecte al llamado o receptor de la denuncia. Si el llamado comparece ser considerada como coadyuvamte del llamante. Si la citacin es demorada, cuando realmente el llamado en nada puede colaborar, en el nuevo proceso que se inicia por parte del llamante contra el llamado, ste puede argumentar que se le llam tarde y es entonces cuando se estudiar la procedencia y la forma de la denuncia. Las consecuencias anteriores quedan claras con la siguiente cita de Adolfo Schnke: "Los efectos (p. 231) de la litisdenunciante y el tercero se producen todas las consecuencias de la intervencin adhesiva, prescindiendo de que el tercero entre en la causa o no. Mas siempre para la alegacin sobre la defectuosa gestin del proceso (exceptio male gesti processus) se habr de tener en cuenta no el momento en que a consecuencia de la litisdenunciacin le fue posible." 3.7 - A denunciao no direito portugus Em Portugal, o instituto da denunciao surgiu com Dom Diniz, com a traduo da Lei das Sete Partidas, que facultava ao ru, caso demandado sobre coisa mvel ou imvel, chamar a juzo, para defend-lo, a pessoa de quem a houvesse recebido. Posteriormente, as Ordenaes Afonsinas, regulavam nos Ttulos XL e XLI, do Livro III, o chamamento autoria. As Ordenaes Manuelinas fizeram minsculas inovaes ao instituto, mais precisamente alterando-lhe a redao, como se v do Livro III, Ttulos XXX e XXXI, com a explicitao do seu carter de obrigatoriedade para o registro do Livro III, Ttulo XXX, 2.
As Ordenaes Filipinas (Livro III, Ttulos XLIV e XLV) mantiveram o instituto, com alguns acrscimos. O primeiro Cdigo de Processo Civil de Portugal manteve o chamamento autoria, em seu art. 322, bem como o chamamento demanda, nos arts. 326 e 327. No novo estatuto foi mantida a garantia do direito resultante da evico, permanecendo o chamado desobrigado de tomar a defesa da causa, sendo-lhe (p. 232) facultado descomparecer; e mesmo comparecendo no estava obrigado a liberar o chamante da vinculao ao processo. Aps 1/10/39, com o novo Cdigo de Processo Civil, o chamamento autoria passou a ser admitido, outrossim, toda vez que o ru tivesse direito a uma indenizao de terceiro em caso de perder a demanda. O Cdigo de Processo Civil de Portugal, quela altura, ladeou-se ZPO alem e sobrepujou as legislaes francesa e italiana, desde que inseriu no seu texto a chamada garantia imprpria e expurgou do instituto o carter de obrigatoriedade que marcou as legislaes que o procederam. Pelo engenho do eminente Professor Jos Alberto dos Reis, o demandado que no chamasse o alienante ou o terceiro autoria no mais perdia o direito de regresso, bastando-lhe, contudo, na ao regressiva, demonstrar que, na ao em que sucumbiu, empregou todos os esforos para evitar a condenao. Contudo, no obstante o reconhecido avano, manteve-se o instituto reservado exclusivamente ao demandado na ao, no ao demandante. Outra particularidade digna de nota no Cdigo de 1939 foi destinada aos efeitos subjetivos da sentena no chamamento autoria, nos casos de comparecimento ou no do chamado. Em quaisquer das hipteses, a sentena faria coisa julgada em face do chamado. Hodiernamente, o novo Cdigo de Processo Civil Portugus, por fora do Decreto-Lei n. 47.690, de 11 de maio de 1967, que mudou a redao do seu art. 325, no faz aluso expressa evico, fazendo-o, no entanto, implicitamente. Por isso que o vendedor, em razo dos arts. 894, 825 e 898, do Cdigo Civil, continua responsvel como garantidor. (p. 233) 3.8 - A denunciao da lide entre ns H uma cronologia digna de nota sobre o instituto da denunciao, entre ns, da parte do Professor Aroldo Plmio Gonalves, Doutor em Direito e Professor de
Direito Processual Civil na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, em trabalho seu intitulado Da Denunciao da Lide. Aps a independncia do Brasil, em 7 de setembro de 1822, desenvolveu-se o seguinte processo de imancipao do direito processual brasileiro: a) a Assemblia Geral Constituinte aprova lei, sancionada pelo rei, determinando o cumprimento das ordenaes, leis, alvars, decretos e resolues promulgadas pelos reis de Portugal; b) anexo ao Cdigo de Processo Criminal do Imprio, formulado em 29/11/1832, entrou em vigor o primeiro texto legal sobre processo civil, "Disposio Provisria Acerca da Administrao da Justia Civil", com seus 27 artigos; c) em 25 de junho de 1850, foi aprovado o Cdigo Comercial pela Lei n. 556; d) em 25 de novembro de 1850, foi baixado o Regulamento n. 737, que denominou de "autoria" o "chamamento autoria", nos seus arts. 111 a 117, mantendo as mesmas caractersticas j anteriormente existentes nas Ordenaes. Estabeleceu esse estatuto que, vindo o chamado aos autos, contra ele prosseguia a ao, sendo defeso ao autor escolher aquele que haveria de continuar figurando na relao processual passiva: se o chamante ou o chamado. Tal princpio inspirou o art. 97 do Cdigo de Processo Civil de 39, que estabele- (p. 234) ceu ser defeso ao autor litigar com o denunciante, vindo a juzo o denunciado; e) o Regulamento n. 737 e as Ordenaes Filipinas coexistiram. O primeiro regia as causas comerciais. O segundo, com alteraes adaptadas, regia as causas cveis; f) em face das leis esparsas que surgiram sobre processo civil, aprouve ao Governo, em decorrncia da Lei n. 2.033, de 20 de setembro de 1871, e do Decreto n. 4.824, de 22 de novembro de 1871, nomear o Conselheiro Antnio Joaquim Ribas para coletar toda a legislao pertinente e existente poca. Surgiu a Consolidao das Leis do Processo Civil, denominada Consolidao Ribas, que se tornou lei por fora da Resoluo Imperial de 28 de dezembro de 1876. Quanto ao chamamento autoria, a Consolidao de Ribas, trazia as seguintes caractersticas: a) o instituto permanecia vinculado evico,
conforme as Ordenaes; b) somente ao demandado era destinado; c) no feita a denncia do litgio pelo demandado ao alienante, perdia o direito de regresso contra este; d) se a causa da no-denncia fosse imputvel ao alienante - no se perdia o direito de regresso; e) admitia-se a denunciao na denunciao; f) ao autor da demanda era facultado demandar o denunciado, to e s, quando comparecia aos autos e aceitava a denunciao, ou continuar demandando, exclusivamente, o denunciante; g) vedava ao denunciado a exceo de incompetncia; (p. 235) h) ao denunciado era dado reconvir ao autor; i) o momento da denunciao era at o incio da instruo; j) a denunciao sustava o andamento do feito; O Decreto n. 763, de 19 de outubro de 1890, determinou a aplicao, com exceo da Consolidao de Ribas, bem como do Regulamento n. 737, de 1850, s causas cveis, provocando, assim, a unificao do processo civil e comercial. Com o fim da monarquia e o surgimento do Estado Federal, criou-se a Justia Federal atravs do Decreto n. 848, de 11/10/1890, que muito assimilou do Regulamento n. 737, de 1850. A Constituio Republicana, de 24/2/1891, conferiu aos Estados-Membros poderes para legislar sobre o processo civil, mantendo, ao seu par, a Justia Federal. Enquanto no promulgados os cdigos estaduais, vigorou o Regulamento n. 737, de 1850, que em sua quase totalidade inspirou aqueles todos. Anota-se, contudo, que os Estados de Alagoas, Amazonas, Gois e Mato Grosso no editaram os seus cdigos, tendo sido regido pelo Regulamento n. 737 (25/11/1850) at 10 de maro de 1940, quando passou a vigorar o primeiro Cdigo Nacional de Processo Civil. Registra-se, outrossim, que, no concernente ao chamamento autoria, os cdigos estaduais mantiveram-se atrelados s idias herdadas de Portugal, com exceo dos cdigos do Rio de Janeiro e Cear, que preferiram o sistema francs-italiano, inspirados no germnico, admitindo, assim, a ao de regresso antecipadamente e no bojo da ao principal, cujo sistema veio a ser adotado pelo Cdigo de 73. (p. 236) O Cdigo Federal de 39 regulou a denunciao da lide a partir do art. 95: "Aquele que demandar ou contra quem se demandar acerca de
coisa ou direito real, poder chamar autoria a pessoa de quem houve a coisa ou o direito real, a fim de resguardar-se dos riscos da evico. 1 Se for o autor, notificar o alienante, na instaurao do juzo, para assumir a direo da causa e modificar a petio inicial. 2 Se for o ru, requerer a citao do alienante nos trs dias seguintes ao da propositura da ao. 3 O denunciado poder, por sua vez, chamar outrem autoria e assim sucessivamente, guardadas as disposies dos artigos anteriores. Art. 96. Ordenada a citao, ficar suspenso o curso da lide. 1 A citao do alienante far-se-: a) quando residente na mesma comarca, dentro de oito dias, contados do respectivo despacho; b) quando residente em comarca diversa ou em lugar incerto, dentro de trinta dias. 2 Se a citao no se fizer no prazo marcado, a ao prosseguir contra o ru, no lhe assistindo, em caso de m-f, direito ao regressiva contra o alienante. Art. 97. Vindo a juzo o denunciado, receber o processo no estado em que este se achar, e a causa com ele prosseguir, sendo defeso ao autor litigar com o denunciante. Se o denunciado confessar o pedido poder o denunciante prosseguir na defesa. (p. 237) Art. 98. Se o denunciado no vier a juzo dentro do prazo, cumprir a quem o houver chamado defender a causa at final, sob pena de perder o direito evico." Como se viu alhures, dos registros histricos do instituto Calamandrei extraiu-se a idia de obrigao de defesa do denunciado em face do seu denunciante. Aps exercitada a defesa, em caso de sucumbncia, que se fala em direito de ressarcimento. Chiovenda, a turno seu, extraiu, no entanto, dos mesmos registros, a idia de ao de regresso antecipadamente e no bojo da ao-base. Ao pensamento chiovendiano a nossa codificao processual de 73 adequou-se, reafirma-se, oriunda dos povos germano-barbricos antigos. De pronto, tem-se que o Cdigo pretrito previa duas hipteses de legitimidade ativa para o exerccio do chamamento. A primeira dizia respeito ao prprio ru, que podia chamar autoria aquele de quem houve a
coisa. A segunda dizia respeito ao prprio autor, que, de igual modo, podia chamar autoria aquele de quem houve a coisa. Inovando, assim, no particular, o legislador, porque at aquele momento histrico-processual no se admitia pudesse o autor chamar algum autoria. Quanto ao objeto do chamamento, naquela codificao, ficou assentado que poderia ser tanto aquele que ensejava ao petitria, como, tambm, aquele que ensejava ao possessria. No obstante a controverso doutrinria que reinou poca, parte da doutrina admitiu tambm o chamamento nas aes divisrias. Quanto obrigatoriedade ou no do chamamento, aquele legislador deixou transparente a idia de facultatividade, tanto que usou a expresso "poder". (p. 238) No se descuidou, contudo, de estabelecer o momento em que se deveria exercitar o chamamento. Se feito pelo autor, far-se-ia quando da propositura da ao; se feita pelo requerido, no trduo posterior propositura da ao, admitindo-se, outrossim, o chamamento sucessivo. 3.8.1 - Natureza da nossa denunciao O nosso sistema o resultado da soma de particularidades positivas que existiram noutros sistemas da histria do Instituto. Assim, por exemplo, a obrigatoriedade da denunciao (que o nosso caso) tanto provm do sistema romano como do germnico; a permanncia do denunciante no processo, quando o denunciado aceita a denunciao (que o nosso caso), do sistema romano, no do germnico; a ao de ressarcimento na mesma ao em curso (que o nosso caso) dos germnicos, no dos romanos. Conclui-se que no equvoca a assero de que o nosso sistema de denunciao tem as suas origens histricas fincadas tanto no sistema romano como no germnico. Quanto aos modelos italianos construdos por Chiovemda e Calamamdrei, o nosso sistema mais se assemelha ao chiovendiano. 3.8.2 - Elementos figurantes da denunciao conforme o Cdigo de 73 O atual Cdigo de Processo, no art. 70, dispe: "A denunciao da lide obrigatria: I - ao alienante, na ao em que terceiro reivindica a coisa, cujo domnio foi transferido parte, a (p. 239) fim de que esta possa exercer o direito que da
evico lhe resulta; II - ao proprietrio ou ao possuidor indireto quando, por fora de obrigao ou direito no caso de usufruturio, do credor pignoratcio, do locatrio, o ru, citado em nome prprio, exera a posse direta da coisa demandada; III - quele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ao regressiva, o prejuzo do que perder a demanda". Diz-se alienante - o mesmo que alienador, o que aliena ou transfere a outrem uma propriedade ou um direito prprio.{47} aquele que se obriga a transferir o domnio da coisa vendida. Caso no entregue a coisa, no efetivando sua transferncia, inexiste alienao e, por conseqncia, a figura do alienante. Credor pignoratcio - pessoa que possui um ttulo de penhor de objetos mveis, institudo em seu favor; Locatrio - aquele que toma em locao, mediante cesso de outrem, o locador, o uso e gozo de coisa mediante remunerao.{48} O emrito Professor J. M. Carvalho Santos{49} confere sua doutrina interpretativa o seguinte texto, em exrdio: "Chama-se locao ao contrato pelo qual uma das partes - locador (grifamos) - se obriga, mediante retribuio, a ceder a outra - locatrio (grifamos) 47. NUNES, Pedro. Dicionrio de tecnologia jurdica. 48. SILVA. De Plcido e. Vocabulrio jurdico. 49. SANTOS, J. M. Carvalho. Op. cit., v. 7, p. 5-10. (p. 240) - durante um certo tempo, o uso ou gzo de uma coisa (locatio rerum) ou a prestar-lhe seus servios (locatio operarum) ou a fazer por sua conta determinada obra (locatio operis)..." "... na locao de prdios, as expresses locador e locatrio equivalem s de senhor, senhorio, ou arrematador, para aquele e condutor, inquilino, rendeiro ou arrendatrio, para este." Proprietrio - titular do direito de propriedade. "Dono; senhorio; senhor e. possuidor de quaisquer bens. O nu-proprietrio, ou aquele que tem o domnio direto da coisa."{50} Conforme Pacifi-Mazzone,{51} "o direito de propriedade o direito real por excelncia, sendo o mais amplo dentre todos les, o que constitui a sua qualidade fundamental, o trao tpico que o caracteriza" Da a afirmativa da doutrina: "O direito de propriedade tem
dois caracteres essenciais: ser absoluto e exclusivo"{52} Donde conclui-se que o proprietrio possui o absolutismo e o exclusivismo como caractersticas bsicas, que o identificam como possuidor do bem ou da coisa. Possuidor - todo aquele que tem somente a posse, o poder fsico sobre a coisa, com a inteno de permanecer no seu exerccio. Diz-se da pessoa que se acha materialmente investida da posse ou que exerce sobre a coisa: a) poderes de fato inerentes ao domnio 50. NUNES, Pedro. Dicionrio de tecnologia jurdica. 51. PACIFI-MAZZONE. Cdice Civile italiano comentado, v. 1, n. 87. 52. SANTOS, J. M. Carvalho. Op. cit., p. 270. (p. 241) dono ou proprietrio; b) qualquer direito real - o usurio, o usufruturio, o enfiteuta, etc.; c) o direito ou obrigao legal de det-la em nome do dono ou de terceiro, em razo de cargo, encargo, ou ofcio - o depositrio, o comodatrio, o transportador ou condutor da coisa etc. Ope-se a senhor, que tem domnio.{53} Modernamente, contudo, tem-se entendido que a condio de possuidor pode, outrossim, transparecer do senhorio, do poder econmico, que o sujeito exerce sobre a coisa, mesmo que no haja o poder fsico - a deteno material. Ihering distingue posse de propriedade: a primeira "o poder de fato", enquanto a segunda "o poder de direito". "O direito de possuir, destarte, assegurado ao proprietrio, e da noo desse direito, isto , dojuspossidenti, que Ihering deduz todos os princpios que formam a sua doutrina", conforme J.M. Carvalho Santos{54}. A posse ainda pode ser tida como um poder de fato sobre a coisa prpria ou alheia, enquanto que a propriedade pode ser tida como um poder jurdico sobre a coisa prpria. Usufruturio - titular de direito de usufruto. Relativo a usufruto; sujeito a usufruto: prdio usufruturio, coisa usufruturia, etc. - imperfeito. aquele que tem o quase usufruto da coisa. Pode-se, ainda avocar usufruturio como aquele que titular de direito real de usufruto sobre determinado bem ou coisa. 53. NUNES, Pedro. Op. cit. 54. SANTOS, J. M. Carvalho. Op. cit., v. 7, p. 12. (p. 242) Do Professor J.M. Carvalho Santos:
"...os dispositivos do Cdigo acerca dos direitos do usufruturio so meramente supletivos, s tendo aplicao nos pontos omitidos pelas partes na conveno ou ato constitutivo." Prossegue o douto jurista: "No pode haver dvida, portanto, que o usufruturio um verdadeiro possuidor e, como tal, tem a faculdade de empregar os interditos possessrios - quer para defender, quer para recuperar a posse"{55}. Perfilha ainda o ilustre mestre, comentando a primeira parte do art. 718 do Cdigo Civil: "So dois os direitos elementares do usufruto: o de ter a coisa, usando e gozando dela, e o de perceber os frutos. Sendo certo que esses dois outros, com esses concomitantes, sem os quais seriam estreis e inexeqveis, como acentua Carvalho de Mendona (Do Usufruto, n. 10). Assim, por exemplo, acontece com o direito posse, pois est claro que o usufruturio no poderia exercer seu direito de uso da coisa sem ter sobre ela a posse."{56} 55. SANTOS, J. M. Carvalho. Op. cit., v. 9, p. 371-372. 56. SANTOS, J. M. Carvalho. Op. cit. (p. 243) 4 - MODALIDADE No contexto das figuras intervencionais, a denunciao sobressai como modalidade de interveno provocada desde que vista do ngulo do interveniente. Do ngulo daquele que provoca a interveno, pode-se admiti-la obrigatria, ou melhor, necessria, desde que haja exigncia da lei, por isso que neste caso passa a ser condio para o exerccio e gozo de direito. 5 - DENUNCIAO E AO A denunciao da lide no nosso sistema equivale ao exerccio do direito de ao de forma eventual, condicionada e incidental, uma vez que por ela o que se busca a garantia judicial de outro direito, qual o decorrente do dever de garantia prpria em razo da evico, ou de uma relao jurdica tornada patolgica e prejudicial ao sujeito denunciante que resulte na obrigao de indenizar em razo da garantia imprpria. Diz-se eventual, condicionada, porque a sua ocorrncia depende de ao-base, e a emisso de juzo valorativo sobre o seu objeto depender da sucumbncia do denunciante na ao originria. Importa esse aspecto da
denunciao, tambm, porque dele resulta no ser ela prejudicial na elaborao da sentena como si acontecer na oposio, sim secundada. 6 - DENUNCIAO E CONDIES DA AO Denunciao, conforme a construo legislativa ptria, ao. Assim, impe-se, na sua propositura, (p. 244) estejam presentes os elementos imprescndiveis ao juzo de admissibilidade, quais a legitimidade, o interesse e a possibilidade jurdica do pedido. A par disso, acresce-se a exigncia de uma ao-base materializada em processo vlido, ou seja, de partes conflitantes, de um conflito incidente em norma genrica e de um rgo jurisdicional constitucionalmente institudo, vez que se veda o tribunal de exceo. No se olvide que, sendo ao, provoca unio de aes, tanto que outra preexiste na hiptese da denunciao proposta pelo requerido; ou outra concomitantemente existe quando a denunciao proposta pelo autor. Da unio resulta extenso da relao subjetiva no plano vertical, no no horizontal, podendo s-lo se o denunciado se litisconsorcia ao seu denunciante. Assim h uma relao processual entre o autor da ao-base e o seu demandado e, em continuidade, outra relao processual entre o demandado-denunciante e o seu denunciado. Admite-se a sucessividade, ficando as aes, os processos e os procedimentos vinculados por fora do instituto. Em cada relao processual que se estabelece, o interesse e a possibilidade jurdica, a par das generalidades da Teoria Geral do Processo, somente sobressairo se os fatos forem conexos, cuidando-se assim de no inserir fato estranho ao que resultou na incidncia autorizadora do exerccio da pretenso originria. 7 - DENUNCIAO E COMPETENCIA DO JUZO Em razo da conexidade de causas, no caso de interveno nominada, tanto a voluntria como a (p. 245) provocada, no dado ao interveniente argir exceo de incompetncia relativa do juzo, sim, to e s, absoluta. Mesmo que o juzo da ao-base no seja competente para apreciar e julgar a causa do denunciado por peculiaridades suas, desde que no se tratem de peculiaridades pertinentes competncia material ou funcional, que cuidam de ser de competncia absoluta, d-se a hiptese da modificao legal da competncia, por
isso que ela estendida ou ampliada. A exceo absoluta pode ser argida em qualquer tempo, por quaisquer das partes e, inclusive, de ofcio pelo prprio juiz, presidente do processo. Se o denunciado que integra a relao processual goza de privilgio de foro, a competncia originariamente firmada desloca-se para o juzo do foro do privilgio. Dse, no caso, a hiptese de incompetncia superveniente. 8 - DENUNCIAO E ASPECTOS FORMAIS DO PEDIDO A lei, a doutrina e a jurisprudncia nada dizem sobre a necessidade de se observar, na formulao do pedido denunciatrio, as exigncias do art. 282 do Cdigo de Processo Civil, alm das pertinentes s custas e taxa. No obstante as suas rezes histricas, tenho que tais exigncias deveriam existir. A uma, porque a denunciao, no nosso sistema, ao que o denunciante move em face do denunciado. No se trata de simples denncia do pleito. A duas, porque o conflito que se estabelece entre o denunciante e o denunciado conseqente do que se estabeleceu entre autor e demandado da ao-base. A trs, porque custas e taxa (p. 246) pagas na ao-base so do interesse e convenincia do autor da ao, portanto para que o Estado lhe preste o servio jurisdicional naquele caso, e no para prestar servio ao demandado denunciante noutra ao, ou ao prprio autor em denunciao para fazer valer outro direito seu. A quatro, porque o denunciante se locupleta custa do autor da ao, resolvendo conflito seu, perante o denunciado, sem nenhuma contraprestao pecuniria ao Estado, ou o prprio autor da ao se beneficia com a denunciao. O princpio dispositivo que rege o processo civil no pode ser olvidado no oferecimento da denunciao, at porque no pedido que se fixa o princpio da co-relao ou da congruncia que impor ao julgador a formulao da sua deciso nos limites da lide. 9 - OBRIGATORIEDADE DA DENUNCIAO - GARANTIA PRPRIA E IMPRPRIA Pelo texto do art. 70 do Cdigo de Processo Civil atual, a denunciao da lide obrigatria em todas as situaes da previso genrica dos seus trs incisos. o que est na lei. Diferentemente, como se v, do legislador de 39, que no estipulou tal obrigatoriedade. preciso se entenda o sentido da obrigatoriedade do texto legal. Denunciao ao judicial.
Ao judicial ato de vontade, mesmo que o sujeito se veja impelido por fatores externos a execut-lo. Ato de vontade no compatvel com a noo de obrigatoriedade. Conclui-se, ento, que a obrigatoriedade do texto equivale condio imprescindvel para o gozo de determinado direito. Assim, para se ter a reparao (p. 247) do prejuzo resultante da evico, imprescindvel (obrigatria) se faa a denunciao. Di-la, por isso, obrigatria. Construiu-se um pensamento doutrinal dissmil do legislativo, cujo pensamento no se desassociou da historicizao do Instituto. No obstante a inspirao do sistema germnico, com seus reflexos na Frana e Itlia, quanto propositura da ao regressiva antecipadamente, os limites fronteirios da inspirao histrica foram alargados desde que se assimilou de Portugal o modelo do inciso III do art. 70, que faculta a denunciao da lide daquele que estiver obrigado a indenizar, em ao regressiva, o prejuzo do que perder a demanda. a chamada garantia imprpria, de denunciao no obrigatria. Impe-se, no contexto da obrigatoriedade, se estabelea a distino existente entre as figuras de garantia prpria e de garantia imprpria. E o que garantia? Garantia, no plano processual, o dever que sobrevm ao garante de defender o garantido, preservando-o ou reembolsando-o do prejuzo que da sucumbncia possa resultar a este. Do conceito sobressaem as figuras do garante, do garantido, do prejuzo, do reembolso (garantia substancial). Garantia prpria, tambm chamada formal, decorrente da transmisso de direitos, aquela que resulta de uma relao jurdica perfeita da qual sobressaem partes capazes, objeto lcito, manifestao inequvoca de vontades e forma eleita prevista ou no proibida por lei. As hipteses genricas de garantia prpria esto nos incisos I e II do art. 70 do Cdigo de Processo Civil, de denunciao obrigatria. (p. 248) Garantia imprpria, tambm chamada simples, aquela que resulta do dano que projeta a obrigao de indenizar, que compreende os elementos componentes da responsabilidade civil, quais sejam: uma conduta culposa, um dano ou prejuzo e o nexo causal entre tais elementos; tambm o dolo e, outrossim, conforme
Aroldo Plnio Gonalves, nos casos de coobrigao. A hiptese de garantia imprpria est prevista no inciso III do art. 70 do Cdigo de Processo Civil, de denunciao facultativa. Por fim, a evico. O Professor Srgio Bermudes, que vem de acrescentar riqueZas de valor inestimvel a outras riquezas, na medida em que atualiza os Comentrios ao Cdigo de Processo Civil de Pontes de Miranda,{57} aclara com singular preciso didtica e terminolgica o sentido da "evico", nos seguintes termos: "Evincere ex, vincere, vencer pondo fora, tirando, afastando. A lngua portuguesa possui o verbo "evencer": o terceiro, ou o prprio outorgante, que vence, quer como demandante quer como demandado, evence, porque vence e pe fora, no todo ou em parte, o direito do outorgado. O vencedor o evictor; o vencido o evicto. Por isso responde quem deu causa ao atingimento do direito do outorgado, luta evincente. Assim, J. Cujcio e Hugo Donelo bordaram consideraes acertadas sobre isso, frisando que, alm de ser vencido, 57. PONTES DE MIRANDA. Comentrios ao Cdigo de Processo Civil. Atualizado por Srgio Bermudes, t. 2, p. 136. (p. 249) preciso que o objeto saia da esfera jurdica do outorgado, razo por que se exige ter sido prestado. A estimologia coincide a, maravilha, com a conceituao vigente (cf. MULLER, C. O. Die lehre des romischen Rechtes von der Eviktion, 89, nota 2)." Os dois primeiros incisos do art. 70 referem-se a situaes reguladas pelo Cdigo Civil nos arts. 486, 1.107, 1.108 e 1.116, enquanto o terceiro inciso do mesmo artigo no tem o mesmo suporte no direito substancial. Os espanhis, contudo, na lio de LopezFra goso,{58} dizem: "El supuesto paradgmtico de intervencin provocada o coactiva de terceros del derecho procesal civil espanl se fundamenta en el saneamiento por eviccin en la compra-venta. El primer y ms importante problema que suscita la obrigacin de garantia que pesa sobre el vendedor (art. 1461 CC) de responder frente al comprador "de la posesin legal y pacifica de la cosa vendida" (art. 1474.1 y 2 CC), radica en determinar si tal supuesto puede da lugar a una autntica llamada en garanta o, por el contrrio, si tal
obrigacin ha de vibilizarse mediante una sim litisdenunciacin y, en su caso, un sucesivo ejercicio de la accin de garanta en va de regreso en un segundo proceso. 57. ALVAREZ, Tomas Lopez-Fragoso. La intervencin de terceros a instancia de parte en el proceso civil espaol, p. 170-171. (p. 250) Para los defensores de la naturaleza meramente denunciadora de este supuesto legal, el art. 1.480 CC impide el que pueda sostenerse la naturaleza de autntica llamada para el mismo, al prohibir que pueda "exigirse (el saneamiento) haste que haya recado sentencia firme, por la que se condene al cwnprador a la perdida de la cosa adquirida o de parte de la misma". En consecuencia, la "llamada" del vendedor al proceso de eviccin slo podr interpretarse como una simple denuncia que de su pendencia le realiza el comprador. El vendedor podr entonces, silo desea, participar en el proceso co interviniente adhesivo del comprador; quedando vinculado, intervenga o no, a los efectos de la sentencia que resuelve dicho proceso. Caso de producirse la eviccin, o sea, cuando el comprador resulte vencido en el proceso, podr dirigirse posteriormente frente al vendedor en un segundo proceso de regreso, esto es, un posterior proceso en el que pretender la condena del vendedor a dejarlo indemne de los daos sofridos por la eviccin (con todo el contenido resarcidor del art. 1478 CC). En otro caso, es decir, cuando el comprador no haya comunicado al vendedor la existencia del proceso de eviccin (en rigor, no haya pedido le emplazamiento del vendedor), quedar ste liberado de toda obligacin de saneamiento, dado el contenido del art. 1481 CC, el cual configura la denuncia ms que como una simple carga procesal del comprador, como una condicin ex (p. 251) lege para mantener vigente la obligacin del vendedor a sanear la cosa vendida." 10 - DISTINO DA DENUNCIAO E NOMEAO AUTORIA O denunciante no se diz parte ilegtima; apenas sustenta que o responsvel por aquela situao conflitada outro e no ele prprio. Nisto distinguese da
nomeao autoria, em que novamente afirmase parte ilegtima e, caso seja aceita, tanto pelo nomeado quanto pelo autor da ao, o nomeante deixa a relao processual passiva. A par disso, esta figura s possvel ao ru, enquanto que, na denunciao, tambm o ao autor. 11 - MOMENTO PROCESSUAL DA DENUNCIAO E LEGITIMAO ATIVA Quanto ao momento processual do oferecimento da denunciao, o legislador de 1973 divergiu do legislador de 1939. No estatuto pretrito, se a denunciao fosse oferecida pelo autor da ao, este deveria notificar o alienante quando da instaurao do juzo. Se a denunciao fosse oferecida pelo demandado, este deveria requerer a citao do alienante no trduo posterior ao da propositura da ao. No novel estatuto, se a denunciao oferecida pelo autor da ao, este dever requerer a citao do denunciado juntamente com a do seu demandado. Se a denunciao oferecida pelo demandado, este dever requerer a citao do denunciado no prazo para contestar. (p. 252) 12 - A DENUNCIAO E A EXTENSO DA RELAO SUBJETIVA NO PLANO HORIZONTAL E NO PLANO VERTICAL O legislador prev que, quando a denunciao for oferecida pelo autor da ao, comparecendo o denunciado, este assumir a posio de litisconsorte do seu denunciante, podendo, inclusive, aditar a petio inicial. Ocorre, na hiptese, extenso da relao subjetiva no plano horizontal. Tambm prev o legislador que, no caso de denunciao feita pelo demandado, aceitando-a o denunciado e contestando o pedido, este torna-se litisconsorte do seu denunciante, ocorrendo, de igual modo, na hiptese, extenso da relao subjetiva no plano horizontal. Nem sempre, contudo, se d como previu o legislador, por isso que s h litisconsorciao quando acontece a juno de lides visando a mesma sorte, e h casos em que o denunciado no se junta ao seu denunciante, sim a este se ope, buscando eximir-se de responsabilizao. Disso resulta uma extenso da relao subjetiva no plano vertical. 13 - JUIZO DE ADMISSIBILIDADE "Art. 70. A citao do denunciado ser requerida,
juntamente com a do ru, se o denunciador for o autor; e, no prazo para contestar, se o denunciante for o ru." Para admisso ou inadmisso da denunciao feita pelo demandado, no se ouve o autor da ao. Tudo (p. 253) fica na dependncia de estarem presentes os elementos comnonentes do juzo de admissibilidade, sendo defeso ao juiz indeferir a pretenso sem que seja por ausncia de qualquer desses elementos. Nesse ponto, tem-se, entre ns, uma similar do direito italiano. Desde que presentes os elementos componentes do juzo de admissibilidade, o juiz determinar a citao do denunciado. 14 - PROCEDIMENTOS Quanto aos procedimentos em que se admite a denunciao, exclui-se o executivo, o sumrio, o sumarssimo procedimentos cautelar, o e os de jurisdio voluntria, sendo cabvel no ordinrio. No procedimento sumario, a interveno restou expressamente vedada por fora da Lei n. 9.245/95, introduzida no Cdigo de Processo Civil no art. 280, I, com a seguinte redao: "No procedimento sumrio: I - no ser admissvel ao declaratria incidental, nem a interveno de terceiro, salvo assistncia e recurso de terceiro interessado..." No procedimento sumarssimo, da Lei n. 9.099/95, de igual modo, no se admite a interveno de terceiros, como se v expressamente no seu art. 10: "No se admitir, no processo, qualquer forma de interveno nem de assistncia. Admitir-se- o litisconsrcio." (p. 254) 15 - SUSPENSO DO PROCESSO E CITAO A suspenso do processo em razo de denunciao da lide est prevista tanto no caput do art.72 do Cdigo de Processo Civil como, tambm, no art. 265, VI, este generalizadamente. anomalia. crise processual, por isso que processo fato humano que, como qualquer outro, no dizer de Joo Mendes Jr e Joo Monteiro, supe um princpio ativo, um princpio passivo, um princpio determinante e um termo. o que corresponde a uma causa eficiente, uma causa material, uma causa formal e uma causa final. A ao do princpio ativo sobre o princpio passivo se d pelo movimento. Processo movimento contnuo por
sucesso e sucessivo por continuidade. O movimento visa a um fim. O fim a inteno. Do princpio, para se chegar ao fim, no possvel prescindir do mtodo, da metodologia do movimento, do procedimento. H movimentos que chegam ao fim mais prontamente. O procedimento , ento, simples; mas procedimento. H movimentos que chegam ao fim menos prontamente. O procedimento, a metodologia , ento, complexa. Aqui est Betti: "Procedimento ato complexo". No processo judicial, o movimento transparece na modalidade de atos do processo, que se do no tempo, na forma e na quadra devidos, pena de no serem em tempo algum praticados. Se no praticados, so substitudos pelo fenmeno processual da precluso temporal. Ento, a precluso temporal um substitutivo do que no se fez, j que os atos so semelhantes a "elos" em cadeia de sucesso por continuidade e contnuos por sucessividade. Se so "elos", tm que estar interligados, no podem sofrer soluo de continuidade, por isso que a precluso temporal o "elo" substitutivo do que no se fez. (p. 255) Sobre o tema suspenso, prefiro o pensamento alemo de W Kisch, vez que, quando ocorre de faltar um pressuposto de existncia do processo, qual, por exemplo, a parte, a hiptese no de suspenso, sim de interrupo pela falta de um elemento seu imprescindvel. Ento, se morre o autor, interrompe-se o processo at que se regularize a sua substituio, ou seja este extinto. Regularizado, recomeam os "elos" em cadeia. Outro o quadro quando sempre presentes os pressupostos de existncia do processo, mas, por razes externas ou internas, tem-se que "suspender o movimento", por isso anomalia, crise. A interrupo, a par da suspenso, , para os alemes, espcie do gnero paralisao. A denunciao um fator endgeno de crise do processo, como o so, tambm, a nomeao, o chamamento. A oposio, contudo, fator exgeno. Todos implicam, endgena ou exogenamente, na quebra da normalidade do movimento. Provocam, sim, anomalia. Mas so os males necessrios que visam economia processual, evitam decises conflitantes, garantem direitos e outros benefcios vistos a seu tempo. 16 - O MOMENTO DA SUSPENSO Recebida a denunciao, no se tratando, pois, de engendar no processo em andamento, questo que em
nada pertine quela que nele se discute, visto o juzo de sua admissibilidade, ordena-se, de pronto, a citao do denunciado, que tanto pode ser o alienante, o proprietrio, o possuidor indireto ou o responsvel pela indenizao e, no mesmo ato, expressamente, deve o juiz declarar suspenso o processo. O legislador processual delimitou a medida de tempo em que dever ocorrer a citao do denunciado com (p. 256) o fim de evitar ofensa ao princpio da celeridade e economia (este quanto ao tempo), que passa a no socorrer a parte a quem no convm diretamente a ao de denunciao. No bojo, tem-se, tambm, o propsito de evitar conduta procrastinatria por parte do denunciante. Assim, se a citao tiver de se operar no limite territorial da mesma comarca por onde tramita a aobase, o prazo para sua efetivao ser de dez dias; se em comarca distinta, o prazo ser de trinta dias. Se, contudo, a citao no se operar em quaisquer desses prazos, a denunciao ser tida como no ofertada e o processo prosseguir; se, todavia, restar configurada a diligncia do denunciante e no a sua inao, no se far aplicao da norma e aguardar-se- a sua operao. Se o denunciante no diligencia para que a citao se opere nos prazos previstos no Cdigo, e se no comprova que tal no se operou independentemente da sua vontade, mas por questes que dizem respeito morosidade da Justia, perde ele o direito de regresso contra o seu denunciado, na hiptese da previso genrica do inciso I, do art. 70, do Cdigo de Processo Civil. Nas hipteses dos incisos II e III, o descumprimento do nus no implica a perda do direito ao autnoma e menos ainda do direito material de indenizao ou regresso; em tais casos, a omisso apenas impede a formao, desde logo, nos mesmos autos, de ttulo executivo contra o terceiro (art. 76) e sujeita o omisso aos riscos integrais de uma ao autnoma, em que amplamente se poder discutir toda a matria de fato ou de direito relacionada ao mrito, ventilada ou no, bem ou mal explorada na ao originria.{59} 59. SANCHES, Sydney. Conseqncia da no denunciao da lide. RJTJESP 47/14-34. (p. 257) Se no diligencia a citao no caso de garantia imprpria (inciso III, art. 70, do CPC), de se admitir seja ele tido, no particular, como litigante de m-f. de se questionar sobre o termo ad quem da suspenso do processo. A rigor, so dois termos. O
primeiro, at o momento da citao, o segundo, at que se finde o prazo para tanto, mesmo que tal no se tenha operado. Resta bvio que o estabelecimento de prazo para citao do denunciado s diz respeito ao denunciante ru, precisamente para evitar manobras retardatrias no curso do processo. Se o denunciante for o autor da ao, a nocitao do denunciado nos prazos do art. 72, 1, a e b, se algum prejuzo causar, ser a si prprio, o autor. A no admitir tal interpretao, no teria sentido o texto do 2 do mesmo artigo. 17 - CONTESTAO O Cdigo no diz se ao tempo em que se oferece a denunciao deve-se, tambm, contestar, ou se simplesmente se denuncia sem contestao, pois que h a suspenso do processo e o curso do prazo de resposta suspenso. Tenho que nada obstaria a que o requerido simplesmente oferecesse a denunciao e se reservasse a apresentar a contestao at no mximo do trmino do seu prazo disponvel para tanto. bem de ver que a boa tcnica no recomenda que se aja assim, uma vez que, para que o prprio denunciado conhea as razes do seu denunciante, mister se faz que a contestao j esteja nos autos. (p. 258) Boa parte da doutrina sobre o Cdigo passado sustentava que o tempo que o denunciante esgotava para oferecer a denunciao era descontado no tempo disponvel ao denunciado para contestar. J.M de Carvalho Santos, citava o seguinte exemplo: "Se somente no segundo dia, aps a citao, o ru requereu a citao do alienante, neste dia que ficou suspensa a causa. Quer dizer: dois dias j se haviam decorrido do prazo para contestao. Se depois volta a correr a causa, claro que o prazo da contestao que resta ao denunciado ficar desfalcado desses dois dias, pois ele receber o processo no estado em que se achava".{60} Ocorre que, como j se viu com a nova filosofia adotada pelo Cdigo de 73, fora convir que ao denunciado dever ser concedido o prazo de resposta comum do procedimento em que se estiver dando a denunciao. No rito ordinrio, ento dever o denunciado responder no prazo de quinze dias, sendo-lhe assegurado
todos os direitos comuns s partes, isso em razo do princpio da igualdade que o nosso Cdigo adotou. 18 - DENUNCIAO SUCESSIVA No raro ocorrer, principalmente nas transaes imobilirias, que o alienante denunciado seja o ltimo de uma cadeia de compras e vendas, nas quais esteve presente, passando, de um para outro adquirente, o vcio comprometedor, da qualidade das transaes. 60. SANTOS, J. M. Carvalho. Op. cit., p. (p. 259) Nesse caso, o denunciado alienante pode denunciar lide o seu alienador e este, por seu turno, aos demais, at que chegue naquele em que, efetivamente, o vcio teve a sua origem. Chama-se, ento, de denunciao sucessiva aquela que sobrevm a outra denunciao. Para que tal se d, so exigidos os mesmos requisitos da primeira denunciao, adotando-se, quanto ao procedimento, de igual modo, as mesmas normas, e, por fim, dela decorrem as mesmas conseqncias. O 1 TACSP, em acrdo unnime da 6 Cmara, em 31/3/87, julgando a Apelao n. 371 .939-8,{61} entendeu que, "se tiver havido vendas sucessivas, o adquirente evicto dever, para usar do direito que a lei lhe concede, citar seu alienante imediato, como responsvel, e este far o chamamento de seu antecessor para a garantia, e assim sucessivamente, at alcanar aquele de onde partiu a alienao viciosa." "Para os fins do disposto no art. 70, o denunciado, por sua vez, intimar do litgio o alienante, o proprietrio, o possuidor indireto ou o responsavel pela indenizao, e, assim, sucessivamente, observando-se, quanto aos prazos, o disposto no artigo antecedente" (art. 73 do CPC). Assim, tem-se como certo que a demanda de garantia poder suscitar outra demanda de igual natureza, por isso que, seguindo a mesma trilha do Cdigo de 39, o legislador de 73 admitiu, tambm, a denunciao sucessiva desde que estabeleceu que o denunciado intime do litgio o alienante, o proprietrio, o possuidor 61. ADCOAS, 1987, p. 436. (p. 260) indireto ou o responsvel pela indenizao e, assim, sucessivamente, observando-se, quanto aos prazos, o disposto no art. 72. O texto desse artigo , contudo, incorreto, porque no fez aluso citao do denunciado, sim
intimao. Ento, onde se l intimao, leia-se citao. 19 - DENUNCIAO PER SALTUM- POR VONTADE PRPRIA Impossvel, tanto no caso de garantia prpria como de garantia imprpria, fazer-se a denunciao com supresso do garante ou responsvel imediato, sem, portanto, observncia do elo de ligao entre um sujeito e outro. Nas Primeiras Linhas, de Pereira e Souza{62} j se havia assentado que "a denunciao da causa no deve fazer-se de salto, mas gradualmente". 20 - DENUNCIAO PERSALTUM-COM SUPRESSO DA VONTADE PRPRIA Cuida, a hiptese, de denunciao com supresso da vontade prpria, por isso que aquele a quem cabia faz-la no a fez. Tambm impossvel que o autor denuncie lide a algum que deve vir aos autos para garantia do demandado, ou vice-versa. A impossibilidade reside na ilegitimidade do denunciante em face do denunciado, j que 62. PEREIRA E SOUZA. Op. cit., 166. (p. 261) aquele no tem nenhuma relao jurdica com este capaz de autorizar a medida denunciatria. A propsito, no STF, do julgamento da Ao Cvel Originria n. 277.0-DF, em que foi relator o Ministro Moreira Alves,{63} restou a seguinte Ementa: "Ementa - Ao cvel originria - Denunciao lide, por uma das rs, do Estado do Mato Grosso, como denunciado do autor. O Estado do Mato Grosso no pode figurar na lide como denunciado, na posio de litisconsorte ativo, porque no houve pedido do autor nesse sentido; ademais, a denunciao lide no se faz per saltum. Precedentes do STF. Excluso do Estado do Mato Grosso da relao jurdica processual, tornando-se, assim, incompetente o STF, restitudos os autos ao Juiz Federal de origem." 21 - DENUNCIAO PELO AUTOR "Art. 74. Feita a denunciao pelo autor, o denunciado, comparecendo, assumir a posio de litisconsorte do denunciante e poder aditar a petio inicial, procedendo-se em seguida citao do ru". Sendo certo que a denunciao ao de regresso que se exercita antecipadamente contra o denunciado, sobressai de evidente praticidade a norma do art. 74 do
Cdigo de Processo Civil. No obstante saber-se que o 63. DJ de 23/11/84. (p. 262) denunciado pelo autor pode ter posio antagnica ao seu denunciante e, tambm, pode no adequar-se a quaisquer das previses genricas dos incisos do art. 70 do Cdigo de Processo Civil, fazendo-se ilegitimado e mingado de interesse para figurar no plo passivo da denunciao. Em sentido contrrio, pode o denunciado pelo autor satisfazer as exigncias para atuar como seu litisconsorte, aditando, querendo a inicial. S depois se far a citao do demandado. A par disso, pode aquele que deveria ser denunciado, e no o foi, atuar como assistente do autor, por isso que a assistncia inexige provocao, decorrendo, exclusivamente, da volio daquele que pretende assistir desde que com interesse jurdico. 22 - DENUNCIAO PELO RU "Art. 75. Feita a denunciao pelo ru: I - se o denunciado a aceitar e contestar o pedido, o processo prosseguir entre o autor, de um lado, e de outro, como litisconsortes, o denunciante e o denunciado; II - se o denunciado foi revel, ou comparecer apenas para negar a qualidade que lhe foi atribuda, cumprir ao denunciante prosseguir na defesa at final; III - se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor, poder o denunciante prosseguir na defesa." Do ngulo da interpretao literal, o inciso I do art. 75 no transparece de fcil aceitao, desde o momento em que se sabe possvel ao denunciado ter pre- (p. 263) tenso antagnica ao seu denunciante, situao que constitui bice litisconsorciao. A doutrina abranda a literalidade do texto, admitindo uma espcie de litisconsorciao sui gene ris, em que o elemento comum dos litisconsortes reside na expectativa da sucumbncia do autor da ao principal. Poder-se-ia aduzir um segundo questionamento sobre o texto, em decorrncia da perquirio que se faz sobre a existncia das condies de ao entre o autor da principal e o denunciado, j que entre ambos no houve negcio jurdico causador de conflitao, por isso nenhum fato ensejador do exerccio do direito de pretenso se verificou. Assim que um, em face do
outro, no alienante, proprietrio ou possuidor indireto, usufruturio, credor pignoratcio ou locatrio. Do ngulo da interpretao histrica, no entanto, a situao se aclara, j que nas fontes inspiradoras do nosso sistema o denunciado que aceitava a denunciao assumia o plo passivo da relao processual, e o seu denunciante era obrigado a deix-lo. Portanto, em razo da influncia do direito aliengena, de se concluir que, se o denunciado aceitante passava a atuar sozinho contra o autor da ao, muito mais lhe possvel, como si acontecer hodiernamente, atuar em companhia de outrem. Quanto ao inciso II do art. 75 do Cdigo de Processo Civil, diz-se revel, segundo Pontes de Miranda, o ru que, chamado a juzo, deixa que se extinga o prazo assinado para a contestao, sem se apresentar. O inciso em apreciao cuida do denunciado revel, ou seja: aquele que regularmente citado mantevese silente no prazo de resposta. Fora convir, contudo, que nem sempre o silncio do ru implica a assero de serem verdadeiras as (p. 264) afirmaes comunicadas pelo autor. Em razo disso, tem-se afirmado que na revelia a presuno de verdade no absoluta, sim relativa, cabendo ao julgador avaliar a medida maior ou menor de veracidade dos fatos em desfavor do revel. Faz-se essa pequena digresso porque, na denunciao, sendo revel o denunciado e sendo procedente a ao principal, nem sempre ser procedente a denunciao. Ocorrendo o contrrio, na hiptese de procedcia tambm da denunciao, a sentena sobre esta proferida ter autoridade e eficcia sobre o denunciado revel. O mesmo inciso cuida de uma segunda conduta, quando prev a possibilidade de comparecer o denunciado apenas para negar a qualidade que lhe foi atribuda. O comparecimento do denunciado para negar a qualidade que lhe atribuda s se d por defesa direta e de fundo. Em quaisquer das hipteses, no deixar de estar contestando a denunciao. Nesta segunda hiptese, sendo procedente a ao principal e no transparecendo ao julgador que a razo e o direito socorrem ao denunciado, tambm emitir juzo perante este, j que a sentena se lhe estende por sua autoridade e eficcia. Em quaisquer das duas hipteses, haver sucumbncia tanto para o denunciante, como para o denunciado. Se em quaisquer
delas o pedido do autor foi improcedente, inocorrer a obrigao para o autor de custas e honorrios perante o denunciado revel, ou, tambm, perante aquele que negou a sua condio. Quanto ao inciso III do art. 75, tem-se implcita a idia de que houve aceitao da denunciao e, por conseqncia, a confisso dos fatos alegados pelo autor. (p. 265) Somente do ngulo historicista que se alcana, hoje, a compreenso do texto. Assim se diz porque, na verdade, no h relao entre o autor da ao principal e o denunciado. A confisso deste, quanto aos fatos alegados por aquele, mais se aproxima da idia de assistncia coadjuvante. Somente aps ter-se a informao histrica de que os povos que nos precederam na elaborao legislativa admitiam a relao do denunciado com o autor da ao principal, que se impe seja prestada vassalagem intelectual devida mens legislatoris do texto epigrafado. Outra seria a situao se o denunciado confessasse os fatos alegados pelo denunciante. Caso o pedido da ao principal fosse procedente, tambm seria de procedncia a ao de ressarcimento. Em todas as hipteses de denunciao em que o pedido principal procedente, bem como o pedido que dele decorre, h uma s sentena com tantos ttulos executivos quantos forem os denunciados vencidos, alm do demandado principal. preciso que o julgador se aperceba da medida da sucumbncia do denunciado, ou dos denunciados, e das partes, ou das partes. Exemplo tpico da situao que, muitas vezes, e de medidas distintas na sentena a que diz respeito denunciao de companhias seguradoras em razo de acidentes automobilsticos. Na maioria das vezes, as companhias vm aos autos, no contestam a denunciao, tambm no contestam a ao, mas admitem o pagamento do seguro nos limites do contratado com o seu segurado. Os limites do contrato nem sempre so os mesmos do pedido do autor, caso em que a sentena ter que explicitar a medida de cada condenao. (p. 266) Admitamos um exemplo em que X acione Y pretendendo reparao patrimonial por prejuzo decorrente de acidente automobilstico. Y, por seu turno, denuncia a Z que a Cia. Seguradora que aceita a denunciao nos limites da
aplice. Admitamos que a reparao pleiteada por X seja 100, e a obrigao de Z seja 50. Sendo procedente o pedido inicial e a denunciao, dever o julgador condenar Y a pagar a X os 100 que lhes so devidos, e condenar Z a pagar a Y os 50 devidos pelo contrato. Aquela condenao, nas custas e honorrios, sobre 100. E esta condenao, nas custas e honorrios, sobre 50. Ressalte-se que, send a denunciao uma ao que se processa como segmento de outra ao e decidida por uma s sentena, impe-se a exigncia de custas e taxas porque, afinal, haver uma prestao jurisdicional alm da previso do autor demandante, no sendo justo, em tal caso, que o denunciante se aproveite dos recolhimentos feitos pelo autor, e deles se beneficie para a soluo do conflito intersubjetivo seu com outrem. 23 - SENTENA NA HIPTESE DE DENUNCIAO O Cdigo estabelece que a sentena que julgar procedente a ao declarar, conforme o caso, o direito do evicto, ou a responsabilidade por perdas e danos, valendo como ttulo executivo. o que se l no art. 76 do Cdigo de Processo Civil. Admito que a erronia existente neste artigo se deve tendncia que no caso especfico existiu de agasalhar a teoria processual de Calamandrei sobre a (p. 267) "chamada em garantia", por isso que, pela referida teoria, dois eram os momentos do processo: o da defesa e o da garantia. Entre ns, restou, ento, um momento declaratrio de direito e outro momento em que tal direito exercitado. Est errado. O nosso sistema, como j se viu, mais se aproxima da teoria substancial de Chiovenda. A ao de regresso est no bojo da ao-base e uma s sentena preciso no se descurar de que primeiro o juiz decide ambas, ou todas as denunciaes sucessivas. decide a ao-base, por isso que denunciao no prejudicial. Decidida a ao-base, se esta for procedente e a denunciao tiver sido oferecida pelo demandado sucumbente, o julgador passa a apreciar o pedido de denunciao, que poder ser procedente ou improcedente, atentando-se, em cada julgamento, no s para o mrito da questo, mas, tambm, cuidando de dar
destinao correta s custas e honorrios advocatcios. Se, no caso de denunciao oferecida pelo demandado, este logrou vitria no juzo, sucumbindo, assim, o autor da ao-base, restou prejudicada a denunciao, devendo ser julgada extinta sem apreciao de mrito com base no art. 267, IV, do Cdigo de Processo Civil, e, mesmo nesse caso, atento ao princpio da causalidade que o nosso Cdigo adotou, deve o denunciante ser condenado nas custas e honorrios do advogado denunciado, j que denunciao ao. O mesmo raciocnio aplicvel ao caso de denunciao oferecida pelo autor. Se procedente a sua ao-base, extingue-se a sua denunciao. Se improcedente a ao-base, julga-se o mrito da sua denunciao, que poder ser procedente ou improcedente. (p. 268) 24 - RECURSO Pelo ngulo que se v o instituto, poder-se-ia admitir que, em caso de indeferimento da inicial, o recurso cabvel seria o de apelao. Nesse caso, deveria o julgador trasladar os autos para a subida do recurso, a fim de que no fosse retardado o andamento do processo principal. No dado ao juiz indeferir o pedido de denunciao, seno nas hipteses dos arts. 295 e 301, II, do Cdigo de Processo Civil. Ocorre, contudo, que no se pode negar o seu carter de oportunidade, incidentalidade e condicionalidade, j que sempre decorrente de uma ao principal e depende de que esta seja julgada procedente quando a denunciao oferecida pelo demandado, e improcedente quando a denunciao oferecida pelo prprio autor, para que se possa apreciar o seu mrito. Diante disso, de se admitir que o recurso cabvel da deciso de indeferimento seja o agravo de instrumento. 25 - DENUNCIAO DA LIDE, ASSISTNCIA E NOMEAO AUTORIA O quanto afirmei sobre a oposio, reafirmo aqui. Nada obsta a que o denunciante seja assistido por assistente simples ou litisconsorcial, conforme seja a relao direta ou no do sujeito com o bem de vida em disputa. O mesmo se diz quanto ao denunciado que pode ser assistido ou no. Assim tambm o denunciado pode nomear autoria. Tome-se por caso um conflito intersubjetivo de (p. 269) interesses com vista garantia prpria ou imprpria em que tenha havido mudana de titularidade do bem ou da
relao jurdica objeto da controverso. A nomeao autoria se faz plenamente cabvel, desde que conforme os dispositivos reguladores de sua admissibilidade. mais uma situao complexa que exsurge no processo em andamento, especialmente no plano subjetivo, que advm do permissivo da inter venire. (p. 270) Captulo III - CHAMAMENTO AO PROCESSO O chamamento ao processo pode ser tido como uma espcie de exceo equitativa, por isso que visa colocar em igualdade de condio com o chamante, fiadores que no foram demandados, mas que poderiam ter sido. um "beneficio de diviso" de que faz uso o fiador demandado. Diverge do Direito Civil quanto ao fato de que neste o prprio credor que divide sua ao, enquanto que no processo ao devedor fiador toca o chamamento para que se d a diviso. Em nvel substantivo, segundo Colin y Captain, "el beneficio de divisin, que presupone la existencia de varos fiadores, cada uno de los cuales, como sabemos, estea obiigado por la totalidad, pero que en virtud de este beneficio puede exigir que el acreedor divida su accin y la reduzca a la cuanta y porcin de cada fiador".{64} O TEXTO DA LEI "Art. 77. admissvel o chamamento ao processo: I - do devedor, na ao em que o fiador for ru; II - dos outros fiadores, quando para a ao for citado apenas um deles; 64. COLIN Y CAPTAIN. curso elemental de derecho ciiil, p. 19. (p. 271) III - de todos os devedores solidrios, quando o credor exigir de um ou de alguns deles, parcial, ou totalmente, a dvida comum. Art. 78. Para que o juiz declare, na mesma sentena, as responsabilidades dos obrigados, a que se refere o artigo antecedente, o ru requerer, no prazo para contestar, a citao do chamado. Art. 79. O juiz suspender o processo, mandando observar, quanto citao e aos prazos, o disposto nos arts. 72 e 74. Art. 80. A sentena, que julgar procedente a ao, condenando os devedores, valer como ttulo executivo, em favor de quem satisfizer a dvida, para exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou de cada um dos co-devedores a sua cota, na proposio que lhes
tocar." 1 - O CHAMAMENTO E A GARANTIA SIMPLES A sua ontologia atrela-se noo de garantia simples, por isso instituto que faculta ao devedor o direito de ser garantido no caso de obrigao, que tambm sua, pessoal, exigida pelo credor. No caso de garantia simples, sobressaem trs figuras distintas: a) uma obrigao pessoal do devedor principal para com o credor; b) uma obrigao pessoal do fiador para com o mesmo credor; c) e, por fim, uma obrigao de garantia do devedor principal para com o fiador.{65} 65. MATIROLO. Op. cit., v. 3, p. 571. (p. 272) 2 - CHAMAMENTO AO PROCESSO E PRECEDENTES O chamamento ao processo no tem precedentes na nossa legislao processual ptria. Trata-se de figura inovadora do Cdigo de 73, regulada nos arts. 77 a 80, que no projeto de lei que a inspirou constava dos arts. 82 a 85. Suas razes esto fincadas no Direito Processual lusitano. 3 - CARACTERSTICAS Sobressaem como caractersticas do chamamento ao processo: a) uma obrigao com vrios coobrigados; b) uma demanda em que o credor optou por pleitear o seu direito de apenas um ou alguns obrigados, deixando parte da relao passiva processual outro, ou outros deles; c) a volio do ou dos demandados voltada para que todos os obrigados estejam na relao processual passiva. V-se, de pronto, que se trata de instituto reservado exclusivamente ao requerido e nunca ao autor. Sua ocorrncia resulta na ampliao do processo, no plano subjetivo, em sentido horizontal, eis que os chamados vm se ombrear com o chamante. Distingue-se da denunciao da lide porque, nesta, os denunciados, ou o denunciado, no tm nenhuma relao de direito material com o autor da ao quando a denncia feita pelo mandado, sim, exclusivamente, com o seu denunciante; enquanto no chamamento ao processo o chamado, ou os chamados, tem relao de direito material, obrigacional, com o autor da ao e com o chamante. (p. 273) No visa garantir direito de regresso, tanto que o demandado, fazendo ou no uso dessa figura processual, desde que satisfaa a obrigao a que foi chamado
judicialmente a satisfazer, se sub-roga nos direitos de credor e passa a ter ao contra os demais coobrigados seus. V-se, ento, que forma de provocao de interveno de terceiro facultada ao chamante, no lhe sendo imposta. Quanto ao chamado, contudo, no lhe dado recusar o chamamento, salvo se tiver razes plausveis e convincentes que demonstrem no ser parte na relao de direito material em que se funda a ao. Nesse caso, toca ao julgador, ante a evidente ilegitimidade passiva do chamado, com ou sem argio de sua parte, inadmiti-lo na litisconsorciao facultativa ulterior que , a rigor, o que si transparecer no caso, desde que deferido o chamamento. O que h de comum entre o chamamento ao processo e a denunciao que tanto um quanto o outro provocam a extenso do processo no plano subjetivo, trazendoparaoseubojoumanovapartefigurante. No particular, no se diga haja afinidade com a nomeao autoria, posto que nesta o nomeante visa fazer figurar na relao processual passiva aquele que, em verdade, rene condies para se contrapor pretenso deduzida. o acertamento da parte passiva, com a estromissione do nomeante. Reafirma-se que, no chamamento ao processo, o chamante parte e visa fazer integrar na demanda outra pessoa que tambm rene condio de parte, porque seu coobrigado no plano do direito substancial. Tem-se, ento, que o inciso I do art. 77 em estudo cuida de facultar ao fiador o direito de chamar, para com ele responder a demanda, aquele a favor de quem prestou a garantia. (p. 274) Tal hiptese de fcil ocorrncia porque, em verdade, nas relaes obrigacionais em que figure o fiador, pode o credor, desde que o devedor no pague, no honre o pactuado, demandar tanto um como o outro, ou demandar a ambos. Nesse caso, no se cuidar de chamamento. O chamamento, no caso, permite que o devedor chamado promova a defesa junto com o chamante e seu fiador, e, em caso de sucumbncia, sero ambos condenados. O chamado atua no processo como se fosse parte originariamente demandada. Havendo, pois, sentena que condene tanto o fiador como o afianado, continua o credor com o direito de optar por um, uns, ou todos os coobrigados, mas, se opta pelo fiador, este poder alegar em seu prol o beneficio da
excusso, na expresso portuguesa, tambm beneficio de ordem, entre ns. De qualquer forma, sempre lhe socorrer o direito de demandar, ao depois, o devedor principal, a fim de ser ressarcido da quantia do seu desembolso, com as correes devidas. No se cogitar do beneficio de ordem pelo fiador, se no contrato expressamente dele renunciou; ou se, pelo contrato, obrigou-se como principal pagador ou devedor solidrio, ou, ainda, se insolvente ou falido o devedor principal. Tudo em consonncia com os arts. 1.491 e 1.492 do Cdigo Civil. 4 - OBJETIVO Importa realar que o mvel do chamamento ao processo est especificamente na economia processual; por isso que se o demandado chamou ao processo o (p. 275) devedor, aquele, em razo da sub-rogao, fez-se credor e pode, tomando a mesma sentena que o condenou, excutir o chamado e se ressarcir na mesma ao. No entanto, no tendo chamado o devedor e cumprindo a obrigao por este, somente atravs de outra ao que poder reaver-se com o coobrigado principal, surgindo, nesse caso, o inconveniente de ser excepcionado pelo devedor, que poder afirm-lo negligente ou inbil na anttese sustentada contra a tese que f-lo sucumbir. do magistrio do Professor Alberto dos Reis{66} a seguinte concluso: "O fiador no obrigado a chamar demanda o devedor para ficar com o direito de lhe pedir indenizao, caso venha a pagar por ele; mas tem grande vantagem em deduzir o incidente, pois porque pode suceder que o credor, munido de sentena condenatria contra o devedor, promova a execuo somente contra ele, j porque, se houde pagar, fica em muito melhores condies para exercer o seu direito de regresso contra o devedor: o exerccio deste direito tornar-se-, como vimos, mais fcil e mais seguro." Ao inciso II do art. 77 em exame, aplica-se a mesma exegese do inciso anterior. Vistos os contornos dos arts. 1.493, 1.494 e 1.495 do Cdigo Civil, tem-se que a obrigao pode ser garantida por mais de uma pessoa, em compromisso de solidariedade passiva, se declaradamente no se reservaram ao benefcio da diviso. 66. REIS, Alberto. Cdigo de Processo Civil anotado, p. 451. (p. 276)
Se estipularam tal benefcio, cada fiador responde unicamente pela parte que, em proporo, lhe couber no pagamento. Ainda pode ocorrer de cada fiador estipular, no contrato, a medida da sua responsabilidade, caso em que no se poder exigir dele nada mais. Na primeira hiptese, tem-se em conta a relao existente entre fiador e credor, como tambm a relao entre fiador e devedor e, por fim, a relao entre fiador e demais fiadores. Sendo certo que cada fiador responde pela totalidade da dvida perante o seu credor, e sendo demandado um deles, pode o ru socorrer-se do benefcio da diviso da responsabilidade, ou seja, pode cham-los ao processo para se defenderem com ele ou serem condenados conjuntamente. Na segunda e terceira hipteses, tem-se em conta a relao entre o fiador e o credor, como tambm a relao entre fiador e devedor, mas desfaz-se a relao entre fiador e demais fiadores. Nesse caso, se o fiador demandado exclusivamente na medida a que se obrigou, no poder chamar ao processo os co-fiadores, sim, exclusivamente, o devedor principal. Ocorrendo, contudo, de o fiador pagar integralmente a dvida, e sub-rogando-se nos direitos do credor, s poder demandar a cada um dos seus co-fiadores na medida em que cada qual se obrigou, e, se ocorrer a insolvncia de um dos fiadores, a sua parte ser distribuda aos demais. O inciso III do art. 77 cuida da admissibilidade do chamamento de todos os devedores solidrios, quando o credor exigir de um ou de algum deles, parcial ou totalmente, a dvida comum. V-se que os dois incisos anteriores cuidaram de situaes em que o fiador, na condio de garantidor da (p. 277) obrigao, foi demandado. Na hiptese presente, no cuida o legislador de garantidores, sim, de devedores solidrios, situao que os faz obrigados em medidas iguais. Deduz-se desse inciso, tambm, que se o devedor solidrio for demandado na medida exata da sua participao na dvida, no h que se falar em chamamento ao processo. Poder faz-lo, se foi demandado pela dvida total ou se, parcialmente, foi superior sua quota-parte devida. O Professor Eurico Lopes-Cardoso no v utilidade, seno pequena, nessa hiptese. O Professor
Alberto dos Reis, por seu turno, objetando-se ao magistrio anteriormente citado, diz: " certo que a utilidade menor do que a do chamamento dos confiadores; no se negue, porm, que seja insignificante ou de pouca monta. Em primeiro lugar, o demandado consegue trazer para o processo novos rus, que podem ajud-lo na defesa; em segundo lugar, condenados todos os rus, pode dar-se o caso de o credor mover execuo contra todos, e no unicamente contra o ru primitivo; finalmente, se o demandado houver de pagar a totalidade, fica em melhor posio para exercer o direito de regresso contra os co-devedores: pode exerc-lo com base na sentena de condenao, sem necessidade de propor contra eles aco declarativa." O nosso Cdigo no cuida da hiptese de ser demandado um dos cnjuges por dvida que haja contrado e quiser fazer intervir no processo o outro cnju- (p. 278) ge para o convencer de que tambm responsvel, como o fez o legislador processual portugus na letra d, do art. 330, do seu Cdigo de Processo Civil. 5 - MOMENTO PROCESSUAL DO CHAMAMENTO O limite de tempo para que o demandado faa uso do instituto o correspondente ao prazo da contestao, que de quinze dias no procedimento ordinrio. 6 - REQUISITOS FORMAIS No se d o caso de impor-se ao chamante a observncia do art. 282 para o exerccio do chamamento, posto que, diferentemente da denunciao, como j se viu, no se trata de ao que se desenvolve no bojo de outra ao, no obstante dever-se citar o chamado para integrar-se na relao processual passiva como se citado fora pelo prprio autor da ao. V-se que ocorre, to e s, o alargamento das fronteiras subjetivas do processo. 7 - INCONVENIENTE PSICOSSOCIAL DO CHAMAMENTO H, no plano do instituto da nomeao, um inconveniente de ordem psicossocial: o de trazer para o processo algum que, possivelmente, no tenha sido da vontade do autor da ao demandar, por lao de amiza- (p. 279) de, por relao de parentesco, ou outras razes quaisquer, mas, nomeando o demandado, impe-se ao
demandante a admisso. 8 - CITAO Formulado o pedido de chamamento, o juiz ordenar a citao do chamado, suspender o processo e mandar observar para o ato citatrio o disposto no art. 72 do Cdigo de Processo Civil, ou seja, se o chamado residir na comarca, dever ser citado dentro de dez dias; se residir em outra comarca, ou em lugar incerto, dever ser citado dentro de trinta dias. Se a citao no se operar no prazo estipulado, a ao prosseguir unicamente em relao ao chamante. 9 - NATUREZA DA SENTENA A sentena, no caso de chamamento ao processo, de natureza condenatria, no simplesmente declaratria, como deixou manifesto o legislador ao redigir o art. 78. Se condenatria, ento, valer como ttulo executivo em favor do que satisfizer a dvida, para exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou de cada um dos co-devedores, a sua quota, na proporo que lhes tocar, o que se far no mesmo processo. 10 - RECURSOS Pode o autor da ao agravar do despacho de deferimento do pedido de chamamento, se entender que ele deveria ter sido indeferido pelo juiz. (p. 280) Como j se viu, ainda no magistrio do Professor Alberto dos Reis, o chamado no goza do direito de aceitar ou repelir o chamamento; pode, sem dvida, impugnar a razo ou o ttulo por que foi trazido para o processo, mas no colocado perante a alternativa de aceitar ou recusar o chamamento. Acrescenta o ilustre Professor, com a citao do chamado ou chamados, em vez de ter como ru o demandado, passa a ter como rus tambm os chamados: eis o alcance imediato do incidente. Verifica-se, pois, uma modificao subjetiva na instncia ou na relao jurdica processual. 11 - PRAZO PARA CONTESTAR Questiona-se se, ocorrendo o chamamento ao processo, passando a relao processual passiva de singular a plrima, se o prazo para contestar, desde que com procuradores diversos os novos demandados, passa a ser contado em dobro. Tenho que se o instituto no previu excepcionalmente a hiptese, como o fez o legislador
quando cuidou da oposio, no art. 57 do Cdigo de Processo Civil, deve-se admitir a generalidade da regra, portanto, a duplicidade do prazo. Quanto ao chamante, no entanto, de se subtrair do seu prazo os dias tomados at o momento do chamamento. Assim, ento, se citado, iniciado o seu prazo de resposta, somente ofertou o chamamento no quinto dia do prazo, o que lhe resta so vinte e cinco dias, no caso do procedimento ordinrio. (p. 281) (p. 282, em branco) Captulo IV - NOMEAO AUTORIA O TEXTO DA LEI "Art. 62. Aquele que detiver a coisa em nome alheio, sendo-lhe demandada em nome prprio, dever nomear autoria o proprietrio ou o possuidor. Art. 63. Aplica-se tambm o disposto no artigo antecedente ao de indenizao, intentada pelo proprietrio ou pelo titular de um direito sobre a coisa, toda vez que o responsvel pelos prejuzos alegar que praticou o ato por ordem ou em cumprimento de instrues de terceiro. Art. 64. Em ambos os casos, o ru requerer a nomeao no prazo para a defesa; o juiz, ao deferir o pedido, suspender o processo e mandar ouvir o autor no prazo de cinco (5) dias. Art. 65. Aceitando o nomeado, ao autor incumbir promoverlhe a citao; recusando-o, ficar sem efeito a nomeao. Art. 66. Se o nomeado reconhecer a qualidade que lhe atribuda, contra ele correr o proces- (p. 283) so; se a negar, o processo continuar contra o nomeante. Art. 67. Quando o autor recusar o nomeado, ou quando este negar a qualidade que lhe atribuda, assinar-se- ao nomeante novo prazo para contestar. Art. 68. Presume-se aceita a nomeao se: I - o autor nada requereu, no prazo em que, a seu respeito, lhe competia manifestar-se; II - o nomeado no comparecer, ou, comparecendo, nada alegar. Art. 69. Responder por perdas e danos aquele a quem incumbia a nomeao: I - deixando de nomear autoria, quando lhe competir;
II - nomeando pessoa diversa daquela em cujo nome detm a coisa demandada." 1 - HISTRICO 1.1 - A nomeao no direito romano Os registros do conta de que sua origem romanstica, conhecida ou denominada de nominatio auctoris. O direito romano, no perodo da extraordinarie cognitiones, conheceu a nomeao a autoria como uma (p. 284) das modalidades de interveno em causa, no voluntria. Assim que se tinha como necessrio o chamamento nos casos de ao de reinvindicao em face de quem "possusse" a coisa em nome de outro. O "detentor" tinha o dever de nominarse auctorem, ou seja, de denunciar ao juzo o nome do verdadeiro possuidor e de cham-lo causa.{67} O JUS in re, que se convertia em direito subjetivo de abrangncia erga omnes em prol do autor da ao, proporcionava-lhe certa medida de comodidade, tanto que por isso no se lhe impunha a necessidade de buscar conhecer previamente quem era o verdadeiro proprietrio da coisa ou quem era o seu possuidor indireto.{68} Desde os romanos, em que a nomeao j consistia na denunciao por parte do demandado, possuidor ou detentor da coisa, da pessoa certa que deveria figurar em juzo, j se tinha a concepo de que o instituto, na sua teleologia, proporcionava trs benefcios: o primeiro dizia respeito ao acertamento do processo, no plano subjetivo, com a pessoa certa no plo passivo da relao processual; o segundo repercutia em beneficio da prpria prestao jurisdicional, que no se via tomada na conduo de um processo em que a parte demandada no fosse aquela que verdadeiramente deveria figurar; o terceiro dizia respeito convenincia da prpria parte equivocadamente nominada, que se livrava no s do constrangimento, mas tambm dos trabalhos comuns de se defender numa demanda no sua. 67. SCIALOJA. Procedimiento civil romano. p. 428. 68. LOPES DA COSTA. Op. cit., v. 3, p. 398. (p. 285) 1.2 - A nomeao nas Ordenaes de Portugal As Ordenaes regulamentaram o Instituto nos seguintes termos: 1) Ordenaes Afonsinas, Livro III, Ttulo XXXXI:
"...a Autoria ha luguar em todo caso, honde o Reo he demandado por algua cousa movel, ou de raiz, que elle tenha, ou possua em seu nome, ou doutrem, assy per auam real, como pessoal, que seja presecutoria da cousa, assy em feito civel, como crime civelmente emtentada pera cobramento da dita cousa." 2) Ordenaes Manuelinas, Livro III, Ttulo XXXI: "Em todo caso onde algu for demandado por alga cousa movel, ou de raiz, que elle tenha, ou possua em seu nome, ou doutrem, assi em feito civel, como crime civelmente intentado, pera cobrar e aver a dita cousa, pode chamar por Autor qualquer pessoa que entender provar de que a ouvesse; e em feito crime criminalmente intentado nom aver luguar a dita autoria.". 3) Ordenaes Filipinas, Livro III, Ttulo XLIV: "Em todo o caso, em que alguem fr demandado, por cousa movel, ou de raiz, que tenha, ou possa em seu nome, ou de outrem, assi em feito civel, como crime civelmente intentado, para cobrar e haver a dita cousa, pode chamar por autor qual- (p. 286) quer pessoa, que entender provar, de que a houvesse. E em feito crime criminalmente intentado no haver lugar a autoria." 1.3 - A nomeao entre ns e a doutrina portuguesa Frisa-se a importncia dos textos das Ordenaes porque deles se verifica que tanto ao detentor como ao possuidor era dado o exerccio da nomeao. Entre ns, contudo, o que se v na codificao de 39 que a legitimao para a nomeao autoria somente tocava ao possuidor. Assim que dispunha o art. 99 do Cdigo pretrito: "Aqule que possuir em nome de outrem a coisa demandada pode nomear autoria, o proprietrio ou o possuidor indireto." E o que se v na codificao de 73 que a nomeao s possvel ao detentor. Assim dispe o art. 62: "Aquele que detiver a coisa em nome alheio, sendo-lhe demandada em nome prprio, dever nomear autoria o proprietrio ou o possuidor." Lopes da Costa j se havia insurgido contra a terminologia do Cdigo de 39 e sustentado que ao detentor, quando demandado, era dado, sim, nomear autoria, portanto no s o possuidor.{69} 69. LOPES DA COSTA. Direito processual civil, 1959, v. 2,
p. 32. (p. 287) O Cdigo de Processo do Estado de So Paulo j se havia posicionado conforme as Ordenaes, ao estabelecer que o mero detentor e o possuidor direto deveriam nomear autoria o proprietrio ou o possuidor indireto da coisa demandada.{70} Impende de esmero para se concluir que a agoral terminologia, como foi a de 39, tambm criticvel, por isso que ao possuidor direto no se pode negar a legitimao para nomear. Tomemos por caso o exemplo do locatrio que demandado por vizinho do imvel locado por obra realizada neste pelo seu proprietrio e locador. O locatrio possuidor direto (no mero detentor) e de se lhe reconhecer o direito de nomear autoria o locador proprietrio por conta de quem a obra foi realizada. No se diga que pelo simples fato de no ser detentor tenha que denunciar lide. A hiptese no comporta denunciao. Na impossibilidade da nomeao (s para argumentar), a nica alternativa processual de socorro ao demandado seria a argio de sua ilegitimidade passiva ad causam. certo que o pensamento do processualista portugus influenciou o legislador ptrio na nfase figura do possuidor. O antigo Cdigo de Processo Civil portugus, no art. 325, I, dizia que "Aquele que foi demandado como possuidor de uma cousa em nome prprio e a possuir em nome alheio, deve nomear a ao a pessoa em nome de quem possui". O Cdigo atual, no art. 320, reproduz a mesma redao. 70. MOURA, Mrio de Assis. Da interveno de terceiros. 1932, p. 78. (p. 288) Na esteira desse pensamento legislativo que desenvolve o Professor Alberto dos Reis{71} a sua singular exegese, da seguinte forma: "Como se v, so dois os pressupostos da previso legal: a) que se demande algum como possuidor em nome prprio; b) que o ru, em vez de possuidor em nome prprio, seja realmente possuidor em nome alheio." E acrescenta: "A exigncia desse requisito mostra que o incidente no tem cabimento quando o autor expressamente atribui ao ru a qualidade de possuir em nome alheio. Mas no se deve considerar i indispensvel que o autor diga claramente na petio que demanda o ru a ttulo de possuidor em
nome prprio, basta que o autor apresente o ru como possuidor, sem discriminao alguma, e que a ao tenha, pela sua ndole, como destinatrio natural, o possuidor em nome prprio." Na concepo do mestre lusitano, o possuidor em nome alheio o que tem um direito pessoal ou obrigacional de uso, como o alugador ou o comodatrio; ou tambm direito de uso ou fruio, como o arrendador, o parceiro cultivador, o consignatrio de rendimentos; ou, ainda, um simples direito de guarda, como o 71. REIS, Alberto dos. Cdigo de Processo Civil anotado. 3. ed., Coimbra: Editora LIN, 1948, v. 1, p. 423. (p. 289) depositrio, o mandatrio, o recoveiro, o barqueiro e transportador, e o credor pignoratcio; e, por fim, um direito real limitado como o enfiteuta e o usufruturio. O eminente mestre Eurico Lopes Cardoso,{72} quanto ao cabimento da nomeao ao, disse: "O incidente de nomeao ao serve para substituir o ru, indevidamente demandado, pela pessoa verdadeiramente interessada em contrariar a demanda. Tem lugar nas hipteses seguintes: a) quando for demandado, como possuidor em nome prprio, um possuidor em nome alheio art. 320; b) quando for demandado por acto ofensivo da propriedade ou posse do autor, algum que haja procedido por conta e ordem de outrem - art. 324. O Cdigo de Processo Civil portugus traz previso genrica de significativo alcance prtico ao prever que o juiz julgar o demandado nomeante, parte ilegtima, se se convencer de que ele possui em nome alheio. o que prev o pargrafo nico do art. 327 do CPC de Portugal." E acrescenta: "Quando o ru demandado na qualidade que realmente tem, de possuidor em nome alheio, j 72. CARDOSO, Eurico Lopes. Manual dos incidentes da instncia em processo civil. 2. ed., Coimbra: Almedina, 1965. (p. 290) no h lugar a nomear outrem ao, mas, simplesmente, a discutir e apreciar, na prpria causa, se tal qualidade lhe confere a devida legitimidade para ela." Segundo o processualista Jacinto Rodrigues Bastos, na nomeao autoria, "h uma aparncia enganadora, que pode levar o
autor a considerar como legtimo ru uma pessoa que no o sujeito da relao jurdica em litgio, ou porque a posse directa ou imediata exercida por um e a posse mediata pertence a outro, ou porque os actos foram praticados por uma pessoa, mas por ordem e a responsabilidade de um terceiro".{73} 2 - O POSSUIDOR E O CDIGO CIVIL Art. 485. "Considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exerccio, pleno ou no, de algum dos poderes inerentes ao domnio, ou propriedade." So considerados possuidores o dono, ou proprietrio, que tem a coisa em seu poder, exercendo de fato sobre ela poderes inerentes ao domnio; tambm o que exerce de fato sobre a coisa algum dos poderes inerentes ao domnio, vale dizer - que exerce algum dos 73. BASTOS, Jacinto Rodrigues. Notas ao cdigo de Processo Civil. 2. ed., 1971, v. 2, p. 128-129. (p. 291) direitos reais, quais sejam: a enfiteuse, o usufruto, o uso, a habitao; bem como o que possui a coisa por fora de uma obrigao ou direito, como o locatrio, o comodatrio, o depositrio, o transportador, o testamenteiro.{74} Paulo Lacerda,{75} citando Pontes de Miranda, fundado em Sokolowski, diz: "A posse estabelecida no s pela posio do sujeito para com o objeto, mas para com a totalidade dos sujeitos. A posse neste sentido estado pessoal (personalicher zustand); forma, por bem dizer, um critrio para a integridade do sujeito e a existncia dela condicionada (bedingt) por dois fatores externos: a autoridade do direito e a tica social (Soziale Gesittung). Tem por isto, a posse, relaes com o direito positivo e a moral pblica. A nossa vontade de posse (Besitzville) no se completa como o animus romano, pelo tactum corpreo, ou por sua continuao existente entre os cidados (Volksgenossen), pela confiana recproca, pela segurana individual. A ao de vontade no , pois, estimada com fator psquico; a ndole dela consiste na idia de que, conforme n-lo diz a nossa experincia, o poder efetivo (die tatsachliche Behrrochung) s possvel pela ao de uma vontade limitada e garantida pela ordem social." Acrescenta o mestre que a posse muito mais que a simples dependncia da coisa ao sujeito, mas
74. SANTOS, J. M. de Carvalho. Cdigo Civil brasileiro interpretado, v. 7, p. 23. 75. LACERDA, Paulo. Manual do Cdigo Civil brasileiro, v. 11, parte 1, n. 66. (p. 292) um poder de vontade, determinado e limitado pela ordem social. 3 - O DETENTOR E O CDIGO CIVIL Art. 487: "No possuidor aquele que, achando-se em relao de dependncia para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instrues suas." O que sobressai desse dispositivo a figura do fmulo da posse. "Fmulo da posse aquele que, em razo de sua situao de dependncia em relao a uma outra pessoa (ao dono), exerce sobre a coisa, no um poder prprio, mas dependente. Est ao servio da posse de outro, instrumento mecnico de posse, mas no possuidor, como bem se expressou notvel escritor."{76} O fmulo , por conseguinte, o detentor. Os tratadistas apontam como fmulos da posse os gerentes e caixeiros, em relao as mercadorias que lhes foram confiadas; os administradores de fazendas, quanto a estas, incluindo stios, lavouras, matas, etc.; os bibliotecrios, com relao os livros da biblioteca; os diretores da sociedade annima ou corporaes, com relao aos 76. SANTOS, J. M. de Carvalho. Cdigo Civil brasileiro interpretado, v. 3, p. 31-32. (p. 293) bens dessas sociedades, confiados sua administrao e guarda. O fmulo da posse, ou o mero detentor, no tem a coisa como se a ele pertencente. No h, sobre a coisa, o animus domini da possessio romana, no h a direo da vontade no senti ou a propriedade; h, sim, uma relao de dependncia entre ele e o proprietrio da coisa. Este o que ordena e determina tudo sobre a coisa.{77} Anota-se, contudo, a impossibilidade de se admitir o detentor como "instrumento mecnico da posse", por isso que, sendo ato praticado por ser racional, exprime deliberao de esprito. Tenere non est corpore rem contingere, sed ita attingere ut affectionem tenendi
haceas. Impe-se, contudo, distinguir o que seja detentor de fato e detentor jurdico. O primeiro o que mantm uma relao com a coisa sem concincia da dita relao. Tome-se por exemplo o fato de algum colocar nos guardados de outrem determinado objeto sem dar-lhe cincia do ocorrido. Mesmo assim, no por isso, se ter o detentor como "instrumento mecnico da posse". O segundo o que mantm uma relao consciente com a coisa. Na deteno jurdica que sobressai uma relao de subordinao ou hierarquia entre o detentor e o titular da coisa; na deteno de fato no h tal relao. J.M. de Carvalho Santos, interpretando o art. 99 do Cdigo pretrito, no foi muito claro no seu incio, ao se expressar: "Possuir em nome de outrem o mero detentor, que conserva ou detm a posse em nome do verdadei 77. ENNECERUS, KIPP, WOLFF. Tratado de derecho civil, v. 1, t. 3, p. 52. (p. 294) ro possuidor e em cumprimento de ordens ou instrues suas. Assim, o mandatrio, o preposto, o empregado, o administrador, etc. Da redao do texto legal supra, parece fazer crer o legislador que o possuidor direto tambm possui em nome de outrem, ou seja, em nome do possuidor indireto. H nessa afirmativa evidente equvoco. O possuidor direto possui em nome prprio, em virtude do contrato que fez com o proprietrio, e em face deste, possuidor indireto, leva at vantagem, apesar de no suprir de todo a posse dele . Coexistem as duas posses, essa a verdade, obrigadas ambas pelo decreto da lei, paralelas e reais (cf. TITO FULGNCIO. Posse e aes possessrias, n. 16). No h dvida de que o possuidor direto (o usufruturio, o locatrio, etc.) possui unicamente por intermdio do possuidor indireto, no sentido de que foi este quem lhe transferiu a posse, sem prejuzo do seu prprio direito. Mas isso coisa bem diferente de possuir em nome de outrem, tanto mais quanto certo que o possuidor direto possui, sem dvida, s vezes com alguma vantagem, graas ao poder efetivo resultante da relao direta com o objeto possudo." Conforme o magistrio de Clvis Bevilqua, o dispositivo do Cdigo Civil exclui da noo de posse o simples detentor da coisa alheia, que mantm a posse
em nome de outrem, ou em cumprimento de instrues recebidas do possuidor. Tal o caso do empregado que conserva os objetos do patro sob a sua guarda, sob (p. 295) custdia; do operrio a quem o dono da obra ou da oficina entregou instrumentos para realizar certo servio; do que, na qualidade de mandatrio, recebeu alguma coisa do mandante para entreg-la a outrem.{78} 3.1 - Impossibilidade de nomeao pelo detentor ou possuidor Se o detentor demandado por ato seu ou por fato que provocou, no caber nomear autoria aquele em nome de quem detm ou possui a coisa. Ter que responder por si. 4 - PRESSUPOSTOS DA NOMEAO So pressupostos da nomeao autoria: a) a deteno da coisa; b) a execuo de ato por ordem, ou cumprimento de instrues de terceiro, com prejuzo a outrem; c) a posse imediata; d) a condio de demandado em nome prprio, sendo possuidor em nome alheio. 5 - ABRANGNCIA DA NOMEAO O legislador ptrio delineou duas modalidades de nomeao, sendo uma de carter abrangente, genrico; outra, de carter restritivo, especfico. 78. BEvILQUA, Clvis. Cdigo Civil dos Estados Unidos do Brasil, p. 971. (p. 296) A primeira, no art. 62, com a seguinte redao: "Aquele que detiver a coisa em nome alheio, sendo-lhe demandada em nome prprio, dever nomear autoria o proprietrio ou o possuidor." A segunda, no art. 63, com a seguinte redao: "Aplica-se tambm o disposto no artigo antecedente ao de indenizao, intentada pelo proprietrio ou pelo titular de um direito sobre a coisa, toda vez que o responsvel pelos prejuzos alegar que praticou o aro por ordem, ou em cumprimento de instrues de terceiro." O art. 62 uma generalidade, enquanto o art. 63 cuida de uma especialidade. Quanto ao art. 63, o que sobressai a prtica de um ato por ordem ou em cumprimento de instrues de terceiro, no importando a que ttulo. Tome-se por caso o clssico exemplo de trabalhador que recebe ordens do proprietrio rural para construir uma barragem que impea o curso das guas para a
propriedade inferior, resultando prejuzos nesta. Sendo demandado o construtor da barragem, dever nomear autoria aquele que ordenou faz-la, a fim de que este responda pelo que determinou. Este artigo tem ongem nas Ordenaes, textos citados, nos quais se alude ao feito cvel como crime civilmente intentado. 6 - OBRIGATORIEDADE DA NOMEAO preciso distinguir os ncleos da figura: a) aquele que detiver ou possuir...; (p. 297) b) ...que detiver ou possuir em nome alheio...; c) ...sendo-lhe demandado em nome prprio por ato ou fato no seu...; d) ...dever nomear.... Presentes os trs primeiros correspondentes do ncleo, surge um dever - "dever nomear". V-se que a nomeao obrigatria. 7 - A NOMEAO E O PRINCPIO DA LEALDADE A nomeao instituto que muito diz respeito ao dever de lealdade da parte no processo. Por isso que os seus beneficios recaem sobre o nomeante quando se porta lealmente. E os malefcios tambm, quando se porta deslealmente. No se trata de deduzir pretenso contra outrem; cuida, sim, de petio que tem como escopo dizer ao Estado-Juiz o nome do proprietrio ou possuidor que deve ser demandado. 8 - FORMALIDADES NO REQUERIMENTO DA NOMEAO Ao nomear, no suficiente que o nomeante diga o nome do nomeado. A explicitao dos fatos necessria para que o autor, quando ouvido, se convena ou no da necessidade de concordar com a nomeao. Assim tambm o nomeado. (p. 298) No fim, o requerimento, com o nome, a qualificao e o endereo do nomeado. obedincia ao princpio dispositivo. 9 - NOMEAO E O PLO PASSIVO DA RELAO PROCESSUAL S cabvel ao requerido, e quando se diz "nomeao autoria" quer dizer no do autor da ao, mas do "autor" do fato controvertido que ensejou a demanda. 10 - NOMEAO - DPLICE ACEITAO - NO-ACEITAO CONSEQUNCIAS DA NOMEAO E DA NO-NOMEAO O Cdigo de Processo Civil cuida de enfatizar a
responsabilidade do demandado que no nomeia autoria ou, nomeando, o faz sobre pessoa diversa daquela em cujo nome detm a coisa demandada. Ora, se busca o legislador proteger o autor da demanda da parte indevida, questiona-se at que ponto o demandado indevido deve ou no ser ressarcido dos prejuzos que a demanda lhe causa quando nomeia e o autor no aceita a nomeao, assim como o seu nomeado. Ou quando no nomeia, mas, mesmo assim, o autor vence, eis que no identificada a ilegitimidade passiva do demandado, e aquele que deveria ser nomeado leva prejuzo. Tomemos por caso seis situaes distintas. Primeira - O demandado nomeia autoria. O autor e o nomeado aceitam a nomeao. H a estromissione (p. 299) do nomeante e a ao prossegue entre o autor e o nomeado. O nomeante se vai do processo, podendo apenas permanecer como assistente simples do seu nomeado e novo demandado. Segunda - O demandado nomeia autoria. O autor recusa a nomeao. Est ele assumindo as conseqncias da demanda de pessoa errada -lhe de direito. Quem nomina a parte demandada o autor. princpio assente. Caso se comprove que o demandado nomeante , realmente, parte ilegtima, no pode ele ser responsabilizado, pelo autor, pelos prejuzos que aquela demanda possa lhe ter proporcionado. Esses prejuzos so em decorrncia do processo: tempo, meios e modos para lev-lo a termo. Ou seja, o quanto lhe significou de prejuzo engendrar-se por um processo de soluo de conflito com pessoa indevida que no se identificou como tal e muito menos apontou a pessoa que deveria ser demandada. Nada tem a ver com sucumbncia. No caso de recusa do autor nomeao, toca ao demandado nomeante, por questo de coerncia, sempre que tiver de manifestar-se nos autos, anunciar-se como parte ilegtima, no obstante na contestao j ter aduzido defesa indireta de natureza peremptria buscando a extino do processo. Bem. Conclui-se que o nomeante se houve com verdade. Aqui lhe toca o direito de ser reparado dos prejuzos que a ao lhe causou, posto que nomeou e no foi crido. Terceira - O demandado nomeia autoria. O autor aceita a nomeao e o nomeado recusa, mas o autor insiste em demandar o nomeante por no ter se operado (p. 300) no todo o estgio de perfazimento do instituto; tambm, de igual modo, est desobrigado o nomeante de qualquer
responsabilizao. No caso de recusa apenas do nomeado, por questo de coerncia deve o autor desistir da ao em face do demandado nomeante e propor nova ao em face do nomeado no aceitante. Contudo, direito seu continuar demandando o nomeante, cabendo ao juiz atentar-se para a ilegitimidade de parte e, ante as alegaes do nomeante, extinguir o processo por ilegitimidade passiva ad causam. Se o autor aceitou a nomeao, mas insistiu em demandar o nomeante por no ter havido o perfazimento do estgio do instituto e constatada a ilegitimidade do nomeante, se houve o autor, evidncia, com abuso no exerccio do direito de ao que, por conseqncia, flo responsvel pelos prejuzos que a demanda causou ao nomeante. Reafirma-se, no se cuida aqui de sucumbncia. So os prejuzos materiais e, em dados casos, at morais, que sero conhecidos em ao prpria e excutidos por sentena. Quarta - O demandado no nomeia autoria. O juiz se d pela ilegitimidade de parte do demandado e extingue o processo. Ou o juiz no se d pela ilegitimidade de parte, julga procedente o pedido, mas, quando da execuo da sentena, surge o bice do proprietrio ou possuidor que se ope execuo. a hiptese do inciso I, do art. 69, do Cdigo de Processo Civil. Quinta - O demandado nomeia autoria pessoa diversa daquela em cujo nome detm a coisa demandada. O juiz julga procedente o pedido e, quando da exe- (p. 301) cuo da sentena, se d com a impossibilidade de fazla. Embargos de terceiro senhor ou possuidor foram oferecidos pelo proprietrio ou possuidor. a hiptese do inciso II, do art. 69, do Cdigo de Processo Civil. Sexta - O demandado no nomeia autoria. O autor vence, por isso que o juiz no se deu com a ilegitimidade passiva do demandado. O autor no sofreu qualquer prejuzo que possa ser reparado, mas o possuidor indireto ou o proprietrio, sim. No caso, o possuidor indireto ou o proprietrio pode demandar o demandado vencido, a fim de se ver ressarcido dos prejuzos que a no-participao no processo lhe causou. O Professor Manuel deAndrade no sentido de que o nonomeado deve ser reparado. No se diga que o no-nomeado no sofre prejuzos por no ter figurado na relao processual. Sofre-os sim. A uma, porque, por um tempo, se for o caso, ficar privado do bem de vida seu, porque proprietrio ou
possuidor. A duas, porque ter que propor ao para reaver o seu bem. A trs, porque se tivesse sido nomeado, atuaria na relao processual passiva como defensor, posio que, obviamente, ser-lhe-ia mais favorvel. 11 - AO EM FACE DO NOMEANTE E DO NOMEADO Se o autor da ao demandou tanto o detentor como o proprietrio e o possuidor indireto em litisconsorciao passiva facultativa, resta parte, que foi indevidamente demandada argir a sua ilegitimidade passiva. No h como nomear se o autor j nomeou. (p. 302) 12 - ALCANCE SUBJETIVO DA SENTENA EM CASO DE NO-ACEITAO DA NOMEAO PELO NOMEADO A lei faculta ao nomeado no aceitar a nomeao. preciso, contudo, se tenha tal faculdade dentro de certos limites, por isso que, se infundada a recusa, transparecem trs situaes distintas: 1) falta do nomeado com a obrigao de lealdade. Lealdade com a parte que o nomeou, com o autor da ao e com o Estado-juiz; 2) sujeio do demahdado nomeante a uma ao que no lhe pertine, caso o juiz no se d pela ilegitimidade de parte; 3) tomada do Estado com todos os componentes da prestao jurisdicional em processo sem efetividade, que se ter, no fim, com a terminao anmala. Portanto, para que no prevaleam essas trs situaes negativas, mesmo que prossiga a ao em face do demandado nomeante, sendo infundada a recusa do nomeado, sobre este haver de recair o efeito da sentena, caso o pedido do autor proceda. O Professor Helder Martins Leito{79} do seguinte entendimento: "O nomeado pode negar a qualidade que lhe atribuda. Se o fizer, fica igualmente sem efeito a 79. LEITO, Helder Martins. Dos incidentes da instncia. Porto: Elcla, 1992, p. 64. (p. 303) nomeao, e o prazo para a defesa do ru comea a contar-se da data em que lhe for notificada a negao do nomeado. Neste caso, a qualidade de possuidor em nome alheio no obsta a que o ru seja considerado parte legtima, e a sentena proferida na causa constituir caso julgado em relao pessoa nomeada."
13 - MOMENTO PROCESSUAL O momento processual da nomeao o de oferecimento da defesa, ou seja, no prazo de quinze dias. A nomeao desobriga a resposta. Afinal, por aquela o nomeante est dizendo que no parte, no sendo coerente que oferea resposta. Deduzida a nomeao, o juiz a deferir, suspender o processo e mandar ouvir o autor no prazo de cinco dias. Considerando que ao nomeado dado, pura e simplesmente, recusar a nomeao, seria recomendvel que o legislador lhe fixasse expressamente o mesmo prazo estabelecido para o autor, somente para caso de negativa. Tal limitao de tempo evitaria que o nomeado, no rito ordinrio, no 15 dia da citao, se manifestasse pela negativa da nomeao, impondo que se reabrisse novo prazo de resposta ao nomeante, homenageando, assim, a procrastinao. O seu silncio, alm dos cinco dias, j implicaria presumida aceitao, desobrigando-se o nomeante daquele processo. Significando dizer que, no caso de aceitao, impenderia manifestar-se em cinco dias. (p. 304) O sistema processual portugus, omisso neste particular, reservou doutrina, em especial na exegese de Alberto dos Reis, o entendimento de que o prazo de cinco dias para o nomeado repudiar ou repelir a nomeao. Com a nomeao e a suspenso do processo, o prazo para resposta passar a correr para o nomeante, em caso de recusa do autor ou recusa do nomeado, a partir do momento de intimao de tal recusa. E o prazo voltar a correr por inteiro. Para o nomeado que ingressa na relao processual, o prazo para contestar a partir de sua citao. Ao nomeado aceitante no possvel deduzir exceo de incompetncia do juzo em razo do seu domiclio; f-lo-, contudo, em razo da pessoa que poder deslocar o julgamento do juzo comum para o especial ou vice-versa. Tanto ao autor da ao quanto ao nomeado, ao serem ouvidos sobre a nomeao, no se lhes impem explicitaes de suas recusas. Basta que digam que no aceitam. A aceitao, no entanto, poder ser expressa quando vem aos autos e afirma-se parte legtima na relao processual; poder ainda ser presumida, se o autor nada requereu, no prazo em que, a seu respeito,
lhe competia manifestar-se; e se o nomeado no comparecer, ou comparecendo, nada alegar. No se diga que a questo de ordem pblica, qual a ilegitimidade de parte, que permite aja o juiz inclu sive de ofcio, havendo a nomeao autoria, transmudase para o domnio privado, posto que fica ao arbtrio das pessoas determin-la. Ao juiz tocar extinguir o (p. 305) processo desde que, havendo nomeao e recusa, seja manifesta a ilegitimidade passiva. 14 - PRAZO PARA CONTESTAR EM CASO DE RECUSA DA NOMEAO Em caso de recusa do autor ao nomeado, ou quando este nega a qualidade que lhe atribuda, assina-se ao nomeante novo prazo para contestar. Ao explicitar "novo prazo", deixou claro o legislador que este ser devolvido integralmente ao nomeante, no sendo possvel descontar-lhe os dias que tomou do prazo de resposta, no caso de procedimento ordinrio. 15 - RECURSO DO DESPACHO QUE INDEFERE A NOMEAO O despacho que indefere a nomeao atacvel por agravo de instrumento. 16 - ESTROMISSIONE DO NOMEANTE Havendo a nomeao e sendo esta aceita, tanto pelo autor como pelo nomeado, o nomeante "extrometido" da relao processual ( a estromissione dos italianos), sendo-lhe facultado, contudo, atuar no processo como assistente daquela parte a quem interessa o xito na demanda. (p. 306)
Você também pode gostar
- Petição InicialDocumento4 páginasPetição Inicialdenis lopesAinda não há avaliações
- Manual - Pesquisavel - Direito Do Trabalho para Empresas - Alberto Sá e MeloDocumento206 páginasManual - Pesquisavel - Direito Do Trabalho para Empresas - Alberto Sá e MeloPedro GonçalvesAinda não há avaliações
- Modelo Checklist Dispensa Ou Inexigibilidade de LicitaçãoDocumento2 páginasModelo Checklist Dispensa Ou Inexigibilidade de LicitaçãoCarol LeiteAinda não há avaliações
- Lembrancinhas Dia Das Crianças 2024Documento28 páginasLembrancinhas Dia Das Crianças 2024Hellen SuaneAinda não há avaliações
- Segurança, Penalidade e Prisão 2Documento10 páginasSegurança, Penalidade e Prisão 2Lucas GusmãoAinda não há avaliações
- AULA CEP - Recurso deDocumento4 páginasAULA CEP - Recurso deBad Yoguita71% (7)
- FORGIONI, Paula A. A Evolução Do Direito Comercial Brasileiro - Da Mercancia Ao MercadoDocumento18 páginasFORGIONI, Paula A. A Evolução Do Direito Comercial Brasileiro - Da Mercancia Ao Mercadoa310477Ainda não há avaliações
- Prova - Direito - CivilDocumento20 páginasProva - Direito - CivilAndreide SóstenesAinda não há avaliações
- Manual de Procedimentos para Condução de Processos de Ética ProfissionalDocumento113 páginasManual de Procedimentos para Condução de Processos de Ética Profissionalrt sergioAinda não há avaliações
- DOM3910Documento13 páginasDOM3910brunopsirhAinda não há avaliações
- Corpo de Bombeiros Militar Do Estado de Rondônia (2008 - RO) - Nível Médio (Bombeiro Militar) (FUNCAB)Documento9 páginasCorpo de Bombeiros Militar Do Estado de Rondônia (2008 - RO) - Nível Médio (Bombeiro Militar) (FUNCAB)SylviaRodriguesAlmeidaAinda não há avaliações
- Declaração Dos Direitos Da Mulher e Da CidadãDocumento4 páginasDeclaração Dos Direitos Da Mulher e Da CidadãLetícia ToledoAinda não há avaliações
- Contrato Comercial CorreiosDocumento10 páginasContrato Comercial CorreiosAlexandre PeixotoAinda não há avaliações
- A Arte de Escrever para Idiotas PDFDocumento28 páginasA Arte de Escrever para Idiotas PDFCédrick CunhaAinda não há avaliações
- Ato AdministrativoDocumento4 páginasAto AdministrativoMarina SofiaAinda não há avaliações
- Artigo - Rubens Correia JR - Por Que A Criminologia Explica (8p)Documento8 páginasArtigo - Rubens Correia JR - Por Que A Criminologia Explica (8p)Rubens Correia JuniorAinda não há avaliações
- PC - Am Administrativo - Alunos - Reta FinalDocumento25 páginasPC - Am Administrativo - Alunos - Reta FinalramosdsantosAinda não há avaliações
- Resumo Administrativo II - BENS PÚBLICOSDocumento4 páginasResumo Administrativo II - BENS PÚBLICOSfelipe e sophiaAinda não há avaliações
- Petição AlLIANZ - PDF 2Documento23 páginasPetição AlLIANZ - PDF 2Oscar Wendell RodriguesAinda não há avaliações
- Enunciados Da 2a CCRDocumento6 páginasEnunciados Da 2a CCRDaniela PortugalAinda não há avaliações
- Processo Legislativo Municipal - João Jampulo JR PDFDocumento92 páginasProcesso Legislativo Municipal - João Jampulo JR PDFadrianomeiraAinda não há avaliações
- Modelo de Acao de Superendividamento Com PrequestionamentoDocumento11 páginasModelo de Acao de Superendividamento Com PrequestionamentoRodrigo VenancioAinda não há avaliações
- 04 - Tepedino - A Nova Lei Da Multipropriedade ImobiliáriaDocumento4 páginas04 - Tepedino - A Nova Lei Da Multipropriedade ImobiliáriaJoão Carlos FabiãoAinda não há avaliações
- Processo PenalDocumento10 páginasProcesso PenalLaneAinda não há avaliações
- Apostila de Procedimento em OcorrênciasDocumento34 páginasApostila de Procedimento em OcorrênciasSSTRAN BPRvAinda não há avaliações
- CONTRATO DE LOCAÇÃO AdrianeDocumento4 páginasCONTRATO DE LOCAÇÃO AdrianeFAGNER RAMONAinda não há avaliações
- Direito Das Famílias - 2022: Rádio Arrebenta!!!!!! Galdino Luiz Ramos JúniorDocumento62 páginasDireito Das Famílias - 2022: Rádio Arrebenta!!!!!! Galdino Luiz Ramos JúniorQuéren HapuqueAinda não há avaliações
- Usucapiao Constitucional de Imovel UrbanoDocumento7 páginasUsucapiao Constitucional de Imovel UrbanocassiosiervuliAinda não há avaliações
- Cartilha Entrega LegalDocumento19 páginasCartilha Entrega LegalDébora NunesAinda não há avaliações
- Pedido de Convocação Do Ministro Da JustiçaDocumento4 páginasPedido de Convocação Do Ministro Da JustiçaMetropolesAinda não há avaliações