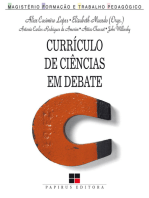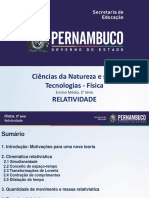Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
TR No EM
TR No EM
Enviado por
Felipe AmorimTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
TR No EM
TR No EM
Enviado por
Felipe AmorimDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Revista Brasileira de Ensino de F sica, v. 29, n. 4, p. 575-583, (2007) www.sbsica.org.
br
Produtos e Materiais Did aticos
Teoria da relatividade restrita e geral no programa de mec anica do ensino m edio: uma poss vel abordagem
(Special and general theory of relativity in the high school: a possible approach)
Andreia Guerra11 , Marco Braga1 e Jos e Cl audio Reis2
1
Grupo Tekn e, Laborat orio de Difus ao de Ci encia e Tecnologia, Centro Federal de Educa c ao Tecnol ogica, Rio de Janeiro, RJ, Brasil 2 Grupo Tekn e, Col egio Pedro II, Rio de Janeiro, RJ, Brasil Recebido em 7/3/2007; Revisado em 10/9/2007; Aceito em 20/9/2007
Esse artigo pretende contribuir para o debate em torno ao ensino de f sica, trazendo uma proposta curricular de inser c ao do estudo das teorias da relatividade restrita e geral na primeira s erie do ensino m edio. Tal proposta foi constru da a partir de uma abordagem hist orico-los oca da ci encia, onde a rela ca o entre a f sica com outras produ co es culturais constituiu-se no vi es privilegiado para se trabalhar com os adolescentes as quest oes cient cas respondidas pelos trabalhos de Albert Einstein. Palavras-chave: ensino de f sica, teoria da relatividade, hist oria e losoa da ci encia, cultura. The present article aims to contribute for the debate about the teaching of physics in the rst year of high school, as far as the study of the theory of relativity (restrict and general) is concerned. Based on a historical and philosophical approach, it discusses the relationship between science and other cultural productions, in an eort to make students reach a more meaningful understanding of how knowledge is built and therefore, better apprehend the questions and solutions presented by Albert Einstein in his works. Keywords: physics teaching, theory of relativity, history and philosophical of science, culture.
1. Introdu c ao
A quest ao do curr culo de f sica para o ensino m edio e um tema muito pensado e discutido entre os pesquisadores da area. A publica c ao dos Par ametros Curriculares Nacionais (PCNs) trouxe contribui c oes ao debate, apresentando de forma sistematizada as propostas constru das pela comunidade ao longo dos u ltimos 20 anos, expostas em eventos como o Simp osio Nacional de Ensino de F sica. Com o estabelecimento dos par ametros n ao se pretendeu a formula c ao de um curr culo pronto e fechado a ser executado por todas as escolas. A id eia era que a partir das orienta c oes de temas e das habilidades espec cas a serem desenvolvidas, diferentes propostas curriculares pudessem ser criadas de acordo com a especicidade de cada escola [1]. Nas orienta c oes dos Par ametros Curriculares est a clara a necessidade da abordagem de temas relacionados ` a f sica do s eculo XX. Na epoca da publica c ao daquele documento, essas quest oes estavam alijadas do curr culo praticado na maioria das escolas brasileiras. A mesma aus encia era registrada nos livros did aticos. Fazendo uma retrospectiva, percebemos que no que
1 E-mail:
tange ao ensino da f sica moderna, o cen ario nacional n ao sofreu mudan cas signicativas ap os a publica c ao dos PCNs. O tema continua exclu do da maioria dos exames de vestibulares nacionais. Apesar desse n ao ser o elemento norteador do ensino m edio, o privil egio atribu do ` a f sica cl assica e ao formalismo matem atico a ela inerente por parte desses exames refor ca a resist encia de muitos educadores em ampliar a abordagem da f sica para al em do s eculo XIX. Em rela c ao aos livros did aticos houve mudan cas. As novas edi c oes de algumas cole c oes [2-5] muito usadas pelos professores de f sica inseriram no u ltimo volume temas de f sica moderna, como: a f sica relativ stica, a f sica do mundo microsc opico e a cosmologia. Na verdade, a mudan ca n ao partiu de uma demanda dos professores, mas da exig encia do Minist erio da Educa c ao da adequa c ao dos livros did aticos ` as metas anunciadas nos PCNs. Parte dessa tend encia se deve ao plano do governo federal de amplia c ao do programa de aquisi c ao de livros did aticos para as disciplinas cient cas. Apesar da resist encia das escolas brasileiras em rela c ao ao ensino da f sica moderna, estudos foram realizados no intuito de criar bases para uma mudan ca cur-
grupo@tekne.pro.br.
Copyright by the Sociedade Brasileira de F sica. Printed in Brazil.
576 ricular [6]. Al em disso, nas u ltimas d ecadas v arios pesquisadores da area de ensino de f sica t em desenvolvido trabalhos envolvendo constru c ao de materiais did aticos, pesquisas educacionais e projetos de forma c ao de professores que se prop oe fornecer a estrutura para que professores possam reconstruir seus curr culos, trazendo aos alunos a f sica do s eculo XX [7-11]. No ano de 2005, comemoramos o centen ario do ano miraculoso de Einstein. No mundo inteiro, ocorreram eventos para comemorar a data. Motivados pela comemora c ao, muitos professores brasileiros realizaram atividades de divulga c ao em suas escolas da obra de Einstein, mas poucos inclu ram essa tem atica como parte do curr culo regular. Os resultados de v arias pesquisas educacionais, o trabalho pontual de alguns professores, a pequena mudan ca nos livros did aticos e a validade dos PCNs mostram que a introdu c ao de temas de f sica moderna deve ser objeto de discuss ao entre aqueles que se dedicam ao ensino m edio. Procurando contribuir para o debate o presente artigo centrar a aten c ao numa proposta de inser c ao da teoria da relatividade, restrita e geral, no ensino m edio formal.
Guerra et al.
2.
Por que tratar de um tema desenvolvido h a cem anos como a teoria da relatividade restrita?
Nas reex oes voltadas para a busca da identidade do ensino de f sica, ca claro que esse ensino precisa preocupar-se em construir caminhos que facilitem a forma c ao da cidadania dos envolvidos no processo educacional. Nesse sentido, e importante que ao longo de toda a sua forma c ao, o aluno seja instigado a reetir sobre a ci encia, pensando sobre os limites e as possibilidades desse conhecimento [13]. Mas em que a f sica moderna, e, mais particularmente, o estudo da relatividade restrita e da geral podem contribuir ` a reex ao dos limites e possibilidades da ci encia? A resposta a essa quest ao ser a constru da a partir da reex ao sobre uma proposta de introdu c ao do tema na primeira s erie do ensino m edio. Essa inser c ao n ao e algo in edito. Alguns pesquisadores/educadores j a propuseram ser este um caminho para que a f sica relativ stica esteja presente nos cursos de f sica [14,15].
texto, deve-se acrescentar o car ater absoluto atribu do ao eter, meio que sustentava a propaga c ao das ondas eletromagn eticas. Algumas dessas quest oes j a haviam perturbado a mente de outros cientistas, como Lorentz e Poincar e, mas os caminhos constru dos para respond e-las foram menos revolucion arios e ao mesmo tempo mais tortuosos do que os de Einstein [16,17]. Einstein, como um homem de seu tempo, confrontou-se com a ci encia de sua epoca. Nesse processo, defendeu que o princ pio da relatividade estabelecido por Galileu deveria ser mais abrangente, ou melhor, v alido para todas as leis da f sica, e n ao apenas para as da mec anica. Paralelamente a isso, rejeitou o eter, a complexidade e a estranheza f sica desse meio impulsionou-o a considerar sup eruo assumir um meio material que sustentasse a propaga c ao das ondas eletromagn eticas. Estabeleceu, ainda, que o conceito de repouso absoluto n ao correspondia a nenhuma propriedade dos fen omenos mec anicos ou eletrodin amicos, e que as leis de Maxwell eram aquelas que deveriam ser vistas como verdadeiras [18]. Ao assumir essas considera c oes dentro de sua ci encia, Einstein precisou alterar conceitos estabelecidos e vivenciados no senso comum como os de tempo e espa co. Esse breve levantamento das id eias defendidas pelo f sico alem ao n ao pretende explicar o seu trabalho, mas fazer uma r apida descri c ao dos problemas que a relatividade restrita resolveu e alguns dos que ela apresentou. Isto porque foi tomando esse eixo de centralidade que a proposta curricular a ser apresentada possibilitou a discuss ao da ci encia, de seu papel e de seus limites na sociedade contempor anea, de modo a tornar esse estudo algo integrado ao curr culo do ensino m edio.
4.
Construindo uma proposta curricular
3.
Relatividade restrita - uma breve passagem
Einstein no artigo de 1905 A eletrodin amica dos corpos em movimento solucionou, a partir de dois postulados, problemas que alguns f sicos de ns do s eculo XIX estavam se defrontando. Dentre essas quest oes, podemos destacar: a n ao validade do princ pio da relatividade galileana para o eletromagnetismo. Nesse con-
Nessa sess ao, ser a descrito um estudo de caso, uma proposta curricular preliminar aplicada em uma escola da rede federal. Esse trabalho partiu do pressuposto que o ensino de f sica deve ter por objetivo apresentar as teorias da f sica dentro de seu contexto de produ c ao, de forma a possibilitar em sala de aula um debate em torno ` a ci encia, seus limites e possibilidades [19]. O tema central do trabalho foi a mec anica, sendo a cinem atica dos movimentos o primeiro assunto abordado. N ao se pretendeu com esse estudo analisar exaustivamente as fun c oes matem aticas capazes de descrever os movimentos retil neos uniforme e uniformemente variados. Rompendo com o formalismo matem atico, abordou-se o tema numa perspectiva hist orico-los oca, enfatizando a obra de Galileu Galilei no que se refere ` as suas contribui c oes para o estudo da cinem atica, e o contexto cultural em que a mesma foi produzida [20]. Dessa forma, o conceito de referen-
Teoria da relatividade restrita e geral no programa de mec anica do ensino m edio
577
cial e as grandezas posi c ao, deslocamento, velocidade e acelera c ao foram denidas, enfatizando-se as transforma c oes de Galileu. Para desenvolver a discuss ao hist orica fez-se uso do lme O Nome da Rosa dirigido por Jean-Jacques Annaud no ano de 1986, baseado na obra hom onima de Umberto Eco. A proje c ao e o debate do lme foi o caminho encontrado para envolver os alunos com o tema nascimento da ci encia moderna, e, assim, situar a obra e vida de Galileu Galilei. Cabe aqui destacar que o professor que aplicou a proposta esteve diretamente envolvido na constru c ao e avalia c ao da mesma. Assim, ele, enquanto professor/pesquisador preocupouse a cada aula em registrar suas impress oes a respeito de como os alunos envolviam-se com o curso. Nessa primeira parte, os registros foram anota c oes escritas a respeito das falas dos alunos durante as aulas e, mais particularmente, ao longo do debate em torno ao lme. A proje c ao e discuss ao do lme O Nome da Rosa j a havia sido realizada em outros cursos de mec anica, em que a teoria da relatividade restrita n ao fora discutida. Nessas outras experi encias educacionais, o trabalho com o lme foi realizado em conjunto com professores de hist oria. Observou-se que nessas oportunidades os alunos utilizaram ao longo do debate um n umero maior de exemplos e associa c oes hist oricas. E que tais associa c oes tamb em se zeram presente em outros momentos do curso. Assim, acreditamos que a atividade teria sido mais rica se desenvolvida com outros professores de forma a explorar melhor seu potencial interdisciplinar. Por em a organiza c ao dos tempos regulares das disciplinas, na escola em que esse trabalho foi aplicado, impediu esta integra c ao. O estudo dos movimentos constituiu-se na porta de entrada para a relatividade restrita, pois os alunos puderam ser defrontados com os seguintes problemas: o princ pio da equival encia e as transforma c oes de Galileu possuem limites, ou s ao v alidas para quaisquer casos? Nesse momento, os alunos foram divididos em grupos, que tinham por fun c ao responder ` a pergunta, atrav es de exemplos concretos. Ao nal, cada grupo apresentava suas conclus oes para o restante da turma. O professor durante esse processo cou atento para encaminhar a discuss ao em torno aos limites e possibilidades de uma teoria cient ca. Dentro dessa abordagem, os conceitos de espa co e tempo foram priorizados. Para trabalhar esses conceitos muitos caminhos poderiam ser trilhados, um dos encontrados foi trazer ` a sala de aula um di alogo entre f sica e arte. O objetivo dessa parte do curso era fazer os alunos reetirem sobre as diferentes concep c oes de tempo e espa co constru das pelos homens ao longo da hist oria. [21] Para que o prop osito se cumprisse n ao foram sucientes exposi c oes orais do professor. Isto porque durante as exposi c oes a dispers ao foi grande e o envolvimento com o assunto limitado. Por isso, o professor prop os ` as turmas um trabalho que se iniciou com a
apresenta c ao de uma sele c ao de imagens contendo afrescos e pinturas produzidas por artistas da Idade M edia at e o s eculo XX. Cinco obras de arte foram escolhidas para a constru c ao desse painel: Entrada em Jerusal em, 1308/11 de Duccio de Sienna, A Madona do Chanceler Rolin, 1435 de JanVan Eyck, Piquenique sobre a relva , 1863, de Edouard Manet, A Catedral de Rouen, 189294, de Claude Monet, As mo cas de Avignon, 1907, de Pablo Picasso.
A catedral de Rouen, de Claude Monet.
As mo cas de Avignon, de Pablo Picasso.
578
Guerra et al.
A Madona do Chanceler Rolin, de JanVan Eyck.
Essa primeira apresenta c ao foi bastante simples e r apida. O prop osito era que os alunos selecionassem uma das imagens para trabalhar. Eles deveriam, ent ao, realizar uma pesquisa com o prop osito de responder as seguintes quest oes: Como as pessoas e os objetos eram retratados na imagem?
Entrada em Jerusal em, de Duccio de Sienna.
Outras obras do pintor escolhido seguiam o mesmo padr ao de representa c ao? Outros pintores da epoca seguiam o mesmo caminho de representa c ao? Quais eram as teorias cient cas mais importantes da epoca para explicar os movimentos celestes e os terrestres? Exigiu-se dos alunos que as respostas fossem apresentadas por meio de um painel, a ser exposto ` a turma, contendo imagens e pequenos textos, de forma que as primeiras prevalecessem em rela c ao ao texto. O professor recebeu o projeto dos pain eis com anteced encia, o que possibilitou criar estrat egias de trabalho em sala para que ao nal da apresenta c ao de cada grupo, os aspectos, a seguir relatados, de espa co e tempo de cada pintura pudessem ser enfatizados. A primeira pintura, por ter sido constru da dentro do per odo medieval, destaca um espa co hierarquizado. O tamanho das pessoas retratadas corresponde ` a posi c ao social que elas ocupam naquele contexto cultural. Existe uma clara distin c ao entre c eu e Terra. O primeiro sendo representado como uma
Piquenique sobre a relva, de Edouard Manet.
Teoria da relatividade restrita e geral no programa de mec anica do ensino m edio
579
imagem uniforme, mon otona e de cor dourada e o segundo compondo as suas diversidades. Essa, como muitas outras obras pict oricas do medievo, ilustra a concep c ao espacial do homem europeu daquela epoca. O espa co era percebido como algo heterog eneo. Cada elemento daquele universo possu a seu lugar natural, estando ao c eu reservado o movimento perp etuo e a imutabilidade. A segunda por ser uma representa c ao pict orica do s eculo XV, n ao mais apresenta o espa co hierarquizado do medievo. C eu e Terra formam um todo. O c eu n ao e o local da perman encia. Assim como a Terra, ele apresenta fen omenos ef emeros. O tamanho atribu do ` as pessoas, ` as arvores, ` as montanhas e calculado pela t ecnica o ponto de fuga que deda pintura em perspectiva. E termina como a imagem e representada. O espa co n ao tem mais um limite claro, o innito pode ali ser contemplado. Essa e uma percep c ao espacial presente no mundo de Isaac Newton, onde os fen omenos celestes, assim como os terrestres apresentam um in cio, um meio e um m. N ao h a lugares privilegiados. O espa co e homog eneo e isotr opico, a presen ca de objetos n ao o altera. A terceira pintura n ao mais coloca a homogeneidade espacial da anterior. As regras da perspectiva cl assica n ao est ao plenamente respeitadas. H a uma mulher na pintura retratada com um tamanho que n ao corresponde a sua posi c ao espacial. A pintura de Manet do s eculo XIX mostra de certa forma uma integra c ao entre objeto e espa co. A retirada de objetos daquela imagem altera a representa c ao ali disposta [22]. O quadro de Monet faz parte de uma s erie de pinturas sobre a mesma catedral. Apesar dessa particularidade, em cada quadro Monet representou-a com impress oes bem distintas, ao retrat a-la em diferentes tempos. O momento registrado alterava aquele espa co. Por u ltimo a pintura de Picasso e com ela um espa co distorcido, em que as regras da perspectiva n ao mais se fazem presentes. V arios angulos de uma mesma gura s ao representados num mesmo plano. N ao h a o espa co fechado e hierarquizado do medievo, mas tamb em n ao encontramos o espa co homog eneo e isotr opico da epoca de Galileu [23]. O que esse trabalho com as imagens proporcionaram ` as aulas de f sica? Na aplica c ao e avalia c ao dessa proposta n ao houve uma preocupa c ao em realizar uma pesquisa quantitativa capaz de tabular a mudan ca de concep c ao dos alunos. Acreditou-se naquele momento, que o caminho mais ecaz para avaliar o processo seria, atrav es da imers ao direta na realidade, registrar por escrito diariamente as impress oes do trabalho. Dessa forma, o professor construiu um escrito antropol ogico daquela realidade [24]. Esse trabalho mostrou que o trabalho realizado pelos alunos e as discuss oes de espa co e tempo desenvolvidas a partir das pinturas permitiram a compreens ao de que toda concep c ao espacial e hist orica e
faz parte da cultura dos homens. A seguir destacamos recortes dos textos apresentados pelos alunos, durante a apresenta c ao do painel, que ilustram o resultado de seus trabalhos: Grupo A turma 1 O c eu amarelo e superior, bem destacado, pois j a que o c eu era a morada de Deus, e a morada de Deus e feita de ouro e pedras preciosas, o c eu deveria ser tamb em dourado. O mesmo pintor e outros pintores da epoca seguiam o mesmo caminho, pois a inu encia religiosa era muito grande e os pintores queriam retratar a sua realidade. Grupo A turma 2 O c eu e retratado dourado por ser considerado como perfeito, a morada de Deus. As guras do quadro est ao extremamente separadas do c eu retratado. E as pessoas s ao retratadas por sua import ancia, quanto maior sua import ancia, maior seu tamanho (no quadro). O c eu era imut avel e perfeito, seguindo a teoria de Arist oteles. A Terra cava im ovel no centro do Universo, e os planetas, a Lua e o Sol giravam em volta da Terra. Grupo B turma 2 A pintura medieval, sem perspectiva, corresponde a uma vis ao de mundo aristot elica, geoc entrica, explicada pela B blia; a perspectiva surge com o Renascimento, rompendo com as explica c oes religiosas para os fen omenos e buscando explica c oes racionais, que correspondessem ` a realidade da natureza... Quando se come ca a mudar a mentalidade em rela c ao ` a natureza, descobrem-se v arias concep c oes reais da verdade que quebram a hierarquia da Igreja. Essas mudan cas reetem sobre a pintura fazendo surgir uma maior no c ao de profundidade, propor c ao perspectiva e tridimensionalidade. Grupo C turma 1 No quadro tem dois homens e duas mulheres, sendo que uma mulher que se encontra bem atr as tem o mesmo tamanho que as outras tr es pessoas. No quadro, o espa co e representado n ao na forma como n os vemos, onde a mulher que est a atr as seria desenhada menor do que as outras para dar a impress ao de propor c ao, mas sim da forma como n os sentimos, como n os sabemos que e; que a mulher de tr as e do mesmo tamanho das pessoas da frente. Como na epoca a fotograa j a tinha sido inventada, os pintores n ao queriam mais retratar a realidade, mas sim impressionar, impactar as pessoas que v eem o quadro, para dar uma no c ao de espa co. Com a inven c ao da fotograa, os pintores n ao se preocupavam mais em transmitir a realidade, diminuindo a perspectiva e a perfei c ao. Esta imagem pertence a era do impressionismo fazendo uso a sensualidade. Grupo D turma 1 Nesse quadro ainda pode-se notar a presen ca da perspectiva. Entretanto j a mostrase bem menos preso ` a realidade do que as do Renascimento. Isto ocorria porque nessa epoca a fotograa foi inventada e os pintores n ao importavam tanto com
580 a perspectiva. Grupo E turma 1 A arte do in cio do s eculo XX era extremamente revolucion aria, j a que quebrava a percep c ao espacial imediata dos corpos, dando-lhes novos contornos e nuances, numa vis ao al em que menosprezava a perspectiva (as tr es dimens oes). Os fen omenos n ao s ao apenas aqueles que o olho humano pode presenciar e identicar no dia a dia. Interessante que esse grupo, referiu-se ` a teoria da relatividade. Apesar deles, ainda n ao terem estudado o assunto, sabiam que esse era o tema do curso. -A relatividade modicou as velhas concep c oes da epoca em que exerceu grande inu encia: sobre os ramos do conhecimento das ci encias ` as artes. O in cio do s eculo XX foi marcado pela procura de se criar novas concep co es atrav es do questionamento das velhas concep co es. Cabe ainda destacar que se percebeu a forma c ao de dois grupos em sala de aula. Um que, muito preocupado com os resultados das avalia c oes, empenhava-se para realizar o painel solicitado, por em se dispersava muito facilmente durante as discuss oes. Era como se tivessem a certeza de que aquilo n ao seria assunto de prova e, portanto, poderia ser desconsiderado. O outro grupo envolveu-se muito com o debate ocorrido durante a apresenta c ao dos pain eis. Nem sempre os trabalhos constru dos por eles eram os melhores, mas ao longo das aulas estavam atentos, trazendo aspectos novos para o debate. Muitos alunos se remeteram ` as discuss oes realizadas em torno ao nascimento da ci encia moderna. Concretizada essa etapa, partiu-se para uma viagem hist orica aos ns do s eculo XIX, ressaltando a situa c ao da f sica naquele contexto. Devido ao objetivo do trabalho, apresentaram-se experimentos simples de indu c ao eletromagn etica para discutir do que trata o eletromagnetismo. Esse foi o in cio da discuss ao em torno ` as novidades trazidas por essa area de conhecimento e aos problemas cient cos derivados daquele desenvolvimento. Nesse ponto foi explorado o signicado das ondas eletromagn eticas e, mais, particularmente, o fato da luz ser uma onda eletromagn etica. A profundidade desse debate variou com a maturidade do grupo de alunos que se estava trabalhando e tamb em do tempo dispon vel para o tema. Por em experimentos simples com molas e cordas foram u teis para se discutir o que vem a ser uma onda e a quest ao da necessidade ou n ao de um meio como suporte ` a sua propaga c ao. Ap os o breve panorama da f sica dos ns do s eculo XIX, Albert Einstein e sua teoria da relatividade restrita e geral foram os assuntos tratados. Os registros da pesquisa sobre a concep c ao espacial indicaram que um bom recurso para explorar essa parte do curso seria propor aos alunos um trabalho em grupo, cada um escolheria um tema para trabalhar. Em todos os casos o grupo precisava abordar no m nimo os itens a respeito do assunto destacado pelo professor. Tema 1: Albert Einstein antes de 1905.
Guerra et al.
A vida de Einstein antes de 1905, enfatizando sua forma c ao acad emica. O ambiente s ocio-cultural em que Einstein vivia. As incoer encias entre o eletromagnetismo e a mec anica. As solu c oes propostas pelos f sicos Poincar e e Lorentz. Tema 2: Reex oes sobre o tempo e espa co em ns do s eculo XIX e in cio do XX. A m aquina do tempo de H.G. Wells. O impressionismo. O cubismo. Um problema t ecnico: a sincronia dos rel ogios. Tema 3: A relatividade restrita. A proposta de Einstein para resolver o problema da incoer encia entre o eletromagnetismo e a mec anica. As inspira c oes para resolver o problema. As implica c oes do fato de se considerar a velocidade da luz constante. E = m.c2 . O impacto no meio acad emico e na sociedade da teoria da relatividade. Tema 4: O efeito fotoel etrico. O quanta de Planck. O efeito fotoel etrico Implica c oes da explica c ao do efeito fotoel etrico para explicar fen omenos como a fotoss ntese. Tema 5: A relatividade geral. A proposta de Einstein para explicar os efeitos gravitacionais. A curvatura espa co-tempo. Buraco negro. O eclipse de Sobral. Tema 6: Albert Einstein ap os 1905. A vida de Einstein ap os 1905, o que mudou imediatamente com a publica c ao dos artigos de 1905. O ambiente s ocio-cultural em que Einstein vivia. Os motivos que o levaram a morar nos Estados Unidos.
Teoria da relatividade restrita e geral no programa de mec anica do ensino m edio
581
Tema 7: Einstein e a bomba at omica. Princ pios b asicos do funcionamento da bomba at omica. Rela c oes entre teoria da relatividade e a bomba at omica. Como o registro do professor apontou alguma dispers ao dos alunos durante a apresenta c ao dos trabalhos sobre as pinturas do medievo ao s eculo XX, buscouse desenvolver atividades capazes de solucionar o problema. Por isso prop os-se que cada grupo escolhesse uma forma diferente para expor seus resultados. Ningu em poderia optar apenas por apresenta c oes orais, era preciso encontrar caminhos alternativos, como: esquetes de teatro, lmagens, poesia etc. As apresenta c oes foram divididas ao longo do curso de modo que ap os cada uma delas o professor, atrav es de aulas expositivas, pudesse aprofundar o assunto abordado. Cabe destacar que a criatividade dos alunos para construir seus modos de exposi c ao foi surpreendente. Um grupo montou um esquete de teatro para apresentar o tema 2. Eles constru ram cen ario com sucatas, gurino e at e trilha sonora. A est oria girava em torno a um grupo de alunos que precisava desenvolver uma pesquisa para a aula de f sica sobre Einstein e seu tempo. O grupo necessitava tirar uma nota alta no trabalho, devido aos resultados das provas anteriores. Eles dividiram as tarefas, mas o tempo passava e nenhum deles conseguia realizar sua parte. Depois de muitas brigas e confus oes, um aluno sonhou com Albert Einstein. O cientista lhe guiou a uma viagem ao m s eculo XIX e in cio do s eculo XX, que permitiu ao aluno no dia seguinte apresentar a seu grupo todo o trabalho pronto. Para narrar o sonho, um dos alunos se vestiu de Einstein e atrav es de proje c ao de fotos, textos e pinturas apresentou as conclus oes da pesquisa que haviam realizado. Esse grupo em particular era composto por alunos muito integrados. Como o trabalho foi proposto antes do per odo das f erias de inverno e a entrega apenas ocorreu em nal de agosto, eles se reuniram v arias vezes nas f erias para trabalhar. Outro grupo que apresentou o tema 3 envolveu familiares na execu c ao da atividade. Eles montaram e lmaram um document ario ct cio sobre Albert Einstein para tratar do terceiro tema, e tomaram o av o de um dos componentes do grupo, para representar o cientista. O av o estudou um texto constru do pelo grupo, proporcionando um resultado muito interessante. As falas do Einstein entrevistado e do apresentador eram grandes e did aticas. Para tornar o v deo mais legal, como declarou uma das alunas, o grupo bolou a inser c ao de intervalos comerciais. Elas criaram, ent ao, v arios produtos ct cios para brincar com a turma. Conclu da a relatividade restrita, o curso voltou-se para o estudo da din amica e mais particularmente das
leis de Newton. Nesse momento, apenas os grupos que se dedicaram aos temas 1, 2 e 3 haviam conclu do suas apresenta c oes. Aqui foram analisados aspectos experimentais e te oricos do tema, que visavam ultrapassar a an alise estritamente matem atica comum no ensino m edio, capaz de restringir o estudo das leis de Newton ` a resolu c ao de problemas num ericos envolvendo bloquinhos. Com a perspectiva de que esse estudo enriquecesse a discuss ao em torno ` a ci encia, aulas expositivas foram utilizadas para apresentar o legado de Newton, de forma a destacar o contexto cultural da Europa, e mais especicamente da Inglaterra de ns do s eculo XVII e in cio do s eculo XVIII. Em termos te oricos as tr es leis de Newton e a lei da gravita c ao universal foram enfocadas simultaneamente. Dessa forma, foram exploradas as quest oes da ci encia do s eculo XVII respondidas por Newton, as controv ersias em torno ao seu trabalho, os debates com seus contempor aneos, as quest oes deixadas em aberto, os problemas suscitados e por m como essa obra foi absorvida pelos cientistas e tamb em por outros homens ao longo do s eculo XVIII [25]. O t ermino desse estudo foi o aporte para a u ltima fase do curso, ou seja, o estudo da relatividade geral. O trabalho com a relatividade geral requisitou um pouco mais de cuidado, devido ` a complexidade matem atica do tema. Escolheu-se discutir quest oes importantes dessa teoria sem avan car nos aspectos mais distantes dos alunos, como a geometria do espa co curvo. Os grupos respons aveis pelos temas 4 e 5 apresentaram suas pesquisas. O tema 4 por estar mais desconectado do curso n ao foi muito aproveitado nas aulas seguintes. Por em na apresenta c ao do tema 5 os alunos utilizaram muitas imagens que foram, ao longo do estudo da relatividade geral, exploradas pelo professor. Trabalhar o legado de Newton ultrapassando o formalismo matem atico comum aos livros did aticos propicia discutir a vis ao mecanicista de natureza fortemente presente no s eculo XVIII. Fora isso podem ser exploradas as controv ersias em torno ` a obra de Newton e ao modo de propaga c ao da a c ao gravitacional, a possibilidade de se pensar num meio especial e o eter, como um caminho para responder a a c ao a dist ancia entre corpos de massas diferentes de zero. Al em dessas, outra quest ao que se destaca e o limite das leis de Newton, ou melhor, o caso dos referenciais n ao-inerciais. Esses aspectos da obra de Newton al em de possibilitarem uma reex ao sobre a ci encia e seu modo de produ c ao permitiram problematizar com os alunos a obviedade da senten ca: a pedra cai, pois a Terra a atrai. O enfrentamento aos problemas em torno a essa quest ao permitiu discutir que o modo de propaga c ao gravitacional foi um problema em aberto por muitos anos. Assim, por mais nova que fosse a id eia de um espa co curvo, ela respondia de alguma forma a uma quest ao los oca e cient ca que cou adormecida por muito tempo. Mas o que enfocar da teoria da relatividade geral, se os alunos n ao t em o suporte matem atico necess ario
582 a explora ` c ao do tema? O princ pio da equival encia e a nova concep c ao espa co-temporal foram os temas estudados nessa etapa nal do curso. Com o primeiro assunto, p ode-se discutir o que a teoria da relatividade geral ampliou tanto em rela c ao ao princ pio da equival encia galileano, quanto ` a teoria da relatividade restrita. Essas abordagens foram desenvolvidas sem as ferramentas matem aticas indispon veis aos alunos do ensino m edio. Durante as aulas, foi retomada a mudan ca de representa c ao espacial dos pintores renascentistas para a dos que viveram no in cio do s eculo XX, como a dos representantes do cubismo. Esse paralelismo foi important ssimo, uma vez que permitiu ao aluno mergulhar no ambiente cultural em que a teoria analisada se construiu. Assim, os poss veis obscurantismos ligados ao olhar do senso comum puderam ser confrontados com a cultura da epoca, de forma a ressaltar que tanto as quest oes quanto as respostas estavam ligadas ao ambiente cient co e cultural em que o cientista ou grupo de cientistas que a enfrentou encontrava-se inserido. Algumas das falas dos alunos resgatadas pelo professor durante as aulas refor cam essa an alise. Aluno 1 -Analisando atenciosamente a obra art stica contempor anea ` a formula c ao da teoria relativ stica pode-se notar seu esfor co na tentativa de romper com as antigas rela c oes de espa co e tempo do s eculo XIX, baseada na tese newtoniana com suporte na geometria euclidiana. A deformidade espa co-temporal proposta por Einstein, bem representada na pintura cubista, caracterizada pela m ultipla percep c ao dos objetos, enxergados de variadas angula c oes e posi c oes, eliminando a perspectiva renascentista que encerrava emancipadamente os conceitos de massa, tempo e espa co. Aluno 2 -Havia um conito naquela epoca: o de se quebrar com as concep c oes antigas. Com isso, Einstein ao tentar solucionar as inconsist encias da f sica cl assica, recorreu a concep c oes de realidade que parecem absurdas para as nossas no c oes cotidianas. Assim como os artistas desta epoca, ele substituiu conceitos at e ent ao inquestion aveis. Aluno 3 -... o conhecimento da arte delineia o contexto em que as mudan cas aconteceram, o ambiente e o momento que as possibilitaram. ... o conhecimento da arte em si permite que nos livremos dos conceitos j a estabelecidos de espa co e tempo; da forma mecanicista de enxergar o mundo.
Guerra et al.
5.
Conclus ao
A proposta curricular que aqui apresentamos foi efetivada, como j a salientamos, em uma escola da rede federal de ensino. N ao se pretende que ela seja um exemplo a seguir, a especicidade dos professores, da escola e at e mesmo das turmas, faz com que sejam necess arias diferentes metodologias de trabalho. Por em o registro de trabalhos, mesmo que pontuais, e fundamental para que os autores do processo educacional tenham subs dios para reinventar suas pr aticas. N ao realizamos ao longo de nosso trabalho uma pesquisa quantitativa para medir o quanto o grupo de alunos apreendeu dos conte udos abordados. Privilegiamos uma pesquisa qualitativa, onde o professor a partir de uma proposta curricular entrou em sala de aula como um ator-espectador, registrando diariamente suas impress oes do trabalho desenvolvido. O professor, nessa posi c ao, tinha sempre aten c ao ao comportamento dos alunos, ao tipo de quest oes que eles lhe colocavam e ao desempenho das atividades. Os registros do professor mostraram que a integra c ao da teoria da relatividade restrita e geral ao curr culo, de forma que esses assuntos n ao fossem percebidos pelos alunos como um ap endice aos conte udos importantes da s erie, e um caminho para trazer esses temas ao ensino m edio. Para superar os supostos problemas dos pr e-requisitos, sugere-se um trabalho interdisciplinar, em que as produ c oes culturais, diferentes da cient ca, sejam discutidas. Fora isso uma proposta curricular centrada numa abordagem hist orico-los oca, em que as quest oes enfrentadas pelos cientistas, as controv ersias que se envolveram, o ambiente cient co cultural de seu trabalho sejam assuntos privilegiados, e um caminho vi avel para o estudo das teorias da relatividade restrita e geral no ensino m edio. As conclus oes da implementa c ao da proposta indicaram, tamb em, caminhos a serem seguidos num trabalho de pesquisa futuro. De um modo geral, os alunos estavam predispostos a estudar o tema. Eles manifestavam interesse em conhecer algo que lhes parecia m agico e poderoso. Essa percep c ao inicial encaminhou uma pesquisa, que est a sendo desenvolvida ao longo de 2007, sobre fatores que levam os alunos a terem um interesse especial em estudar relatividade. A import ancia de uma pesquisa como essa se deve a necessidade de construir materiais capazes de trazer aos educadores ferramentas para conhecerem melhor sua realidade e a partir disso melhor interferirem nela.
Refer encias
[1] Brasil, Bases Legais Par ametros Curriculares Nacionais Ensino M edio (Minist erio da Educa ca o, Bras lia, 1999). [2] A. M aximo e B. Alvarenga, Curso de F sica (Editora Scipione, S ao Paulo, 2006).
Teoria da relatividade restrita e geral no programa de mec anica do ensino m edio
583
[3] A.Gaspar, F sica (Editora Atual, S ao Paulo, 2001). [4] F. Ramalho, N.G. Ferraro e P.A. Toledo, Fundamentos da F sica (Editora Moderna, S ao Paulo, 2003). [5] J.B.Gualter, V.B. Newton e R. Helou, T opicos da F sica (Editora Saraiva, S ao Paulo, 2001). [6] F. Ostermann e M.A Moreira, Investiga c oes em Ensino de Ci encias 5, 1 (2000). [7] A. Hellstrand e A. Ott, Physics Education 30, 5 (1995). [8] J.F.K. K ohnlein e L.O.Q. Peduzzi, Caderno Brasileiro de Ensino de F sica 22, 36 (2005). [9] A. Medeiros e C.F. de Medeiros, Caderno Brasileiro de Ensino de F sica 22, 299 (2005). [10] F. Ostermann e T.F. Ricci, Caderno Brasileiro de Ensino de F sica 19, 176 (2002). [11] F. Ostermann e T. F. Ricci, Caderno Brasileiro de Ensino de F sica 21, 83 (2004). [12] M. Braga, A Nova Paid eia (E-papers, Rio de Janeiro, 2001). [13] A. Guerra, M. Braga e J.C.O. Reis, Caderno Brasileiro de Ensino de F sica 22, 224 (2004). [14] R.A.S. Karam, S.M.S.C. de Souza Cruz e D. Coimbra, Revista Brasileira de Ensino de F sica 28, 373 (2006). [15] R.A.S. Karam, S.M.S.C. de Souza Cruz e D. Coimbra, Revista Brasileira de Ensino de F sica 29, 105 (2007).
[16] J.M. Sanches Ron, el Origen y Desarrollo de la Relatividad (Alianza Universidad, Madri, 1983). [17] G. Holton and Y. Elkana, Albert Einstein Historical and Cultural Perspectives (Dover Publications, Nova York, 1997). [18] A. Einstein, A Teoria da Relatividade Especial e Geral (Contraponto, Rio de Janeiro, 1999). [19] A. Guerra, M. Braga, J.C.O. Reis e J. Freitas, Caderno Brasileiro de Ensino de F sica 15, 32 (1998). [20] A. Guerra, J. Freitas, J.C. Reis e M. Braga, Galileu e o Nascimento da Ci encia Moderna (Editora Atual, S ao Paulo, 1997). [21] S.Y. Edgerton Jr., The Heritage of Giottos Geometry: Art and Science on the Eve of the Scientic Revolution (Cornell University Press, Nova York, 1993). [22] A.I. Miller, Insights of Genius: Imaginary and Creativity in Science and Art (Copernicus, Nova York, 1996). [23] A.I. Miller, Einstein, Picasso: Space, Time, and Beauty that Causes Havoc (Basic Books, Nova York, 2001). [24] C. Geertz, A Interpreta c ao das Culturas (Zahar Editores, Rio de Janeiro, 1978). [25] M. Braga, A. Guerra, J. Freitas, J.C. Reis, Newton e o Triunfo do Mecanicismo (Editora Atual, S ao Paulo, 1999).
Você também pode gostar
- Apostila Ciencias Naturais Do 6º Ao 9º Ano - Ensino Fundamental - Prof Analina VDocumento18 páginasApostila Ciencias Naturais Do 6º Ao 9º Ano - Ensino Fundamental - Prof Analina VAnalina V. Sipaúba50% (8)
- Resumo - 2600235 Carolina Castro - 66156435 Fisica Aula 12 Teoria Da Relatividade Especial IIIDocumento10 páginasResumo - 2600235 Carolina Castro - 66156435 Fisica Aula 12 Teoria Da Relatividade Especial IIIpefisicaufsAinda não há avaliações
- Trabalho de Fisica Forcas Fundamentais Da NaturezaDocumento12 páginasTrabalho de Fisica Forcas Fundamentais Da NaturezaJeferson Petry100% (1)
- Ensino de AstronomiaDocumento13 páginasEnsino de AstronomiaFadi Simon de Souza MagalhãesAinda não há avaliações
- A Radioatividade e o Ensino de Quimica em Tema para DebateDocumento5 páginasA Radioatividade e o Ensino de Quimica em Tema para DebateBrunoAinda não há avaliações
- Natureza Da Ciência Numa Sequência Didática - Aristóteles, Galileu e o Movimento RelativoDocumento10 páginasNatureza Da Ciência Numa Sequência Didática - Aristóteles, Galileu e o Movimento RelativoThomasKauamAinda não há avaliações
- Conservação de EnergiaDocumento19 páginasConservação de EnergiaAlex Petit HommeAinda não há avaliações
- História, Filosofia e Ensino de Ciências: A Tendencia Atual de Reaproximação. MatthewsDocumento51 páginasHistória, Filosofia e Ensino de Ciências: A Tendencia Atual de Reaproximação. MatthewsDébora MarchesineAinda não há avaliações
- O Sol: Uma Abordagem Interdisciplinar para o Ensino de Física ModernaDocumento12 páginasO Sol: Uma Abordagem Interdisciplinar para o Ensino de Física ModernaAmanda CrisAinda não há avaliações
- Maxwell REVISANDO MATERIAIS DE ENSINO MEDIO SOBRE O TEMA FISICA DE PARTICULAS ELEMENTARESDocumento11 páginasMaxwell REVISANDO MATERIAIS DE ENSINO MEDIO SOBRE O TEMA FISICA DE PARTICULAS ELEMENTARESADRIANA ARAUJO DE SOUZAAinda não há avaliações
- Abordagem Temática No Ensino de Ciências: Algumas PossibilidadesDocumento12 páginasAbordagem Temática No Ensino de Ciências: Algumas PossibilidadesKarine HalmenschlagerAinda não há avaliações
- Quimica - e - Arte - para - A - Antigopdf PT-BRDocumento7 páginasQuimica - e - Arte - para - A - Antigopdf PT-BRMaria Bento MariaAinda não há avaliações
- A Natureza Do Conhecimento Científico E O Ensino de CiênciasDocumento12 páginasA Natureza Do Conhecimento Científico E O Ensino de CiênciasÂngelo PereiraAinda não há avaliações
- 3.5 Artigo Mec Tessituras Curriculo Ciencias Elenita Maria GracaDocumento14 páginas3.5 Artigo Mec Tessituras Curriculo Ciencias Elenita Maria GracaAdrielleAinda não há avaliações
- 2822-Texto Do Artigo-11398-1-10-20131004Documento2 páginas2822-Texto Do Artigo-11398-1-10-20131004Diego Ramon Souza PereiraAinda não há avaliações
- Olavolsf, PontesconceituaisDocumento19 páginasOlavolsf, PontesconceituaisBeatriz Aguida GomesAinda não há avaliações
- Ciencias Ed BasicaDocumento31 páginasCiencias Ed BasicaNataly MarquesAinda não há avaliações
- História Do Princípio Da Conservação Da EnergiaDocumento10 páginasHistória Do Princípio Da Conservação Da EnergiaYURI SILVA CONDEAinda não há avaliações
- Relatividade em TirinhasDocumento12 páginasRelatividade em TirinhasFrancielle AndradeAinda não há avaliações
- Pedagogia e Ciências SociaisDocumento20 páginasPedagogia e Ciências SociaisJonas MagalhãesAinda não há avaliações
- Artigo para Resumo - 1 P. FísicaDocumento17 páginasArtigo para Resumo - 1 P. Físicavitor emanuelAinda não há avaliações
- As Ideias de Einstein em Tirinhas PDFDocumento12 páginasAs Ideias de Einstein em Tirinhas PDFjhessyjmouraAinda não há avaliações
- A História Da Ciência Nos Livros Didáticos de Química Do PNLEM 2007Documento18 páginasA História Da Ciência Nos Livros Didáticos de Química Do PNLEM 2007Ronivan Sousa da SilvaAinda não há avaliações
- Ensino de Fisica Moderna No Ensino Medio Uma PropoDocumento17 páginasEnsino de Fisica Moderna No Ensino Medio Uma PropoSilva CorreaAinda não há avaliações
- 53539-Texto Do Artigo-164474-1-10-20210628Documento32 páginas53539-Texto Do Artigo-164474-1-10-20210628Laura PeneAinda não há avaliações
- Fichamento para A Professora LIvro Aprenser e Ensinar GeografiaDocumento3 páginasFichamento para A Professora LIvro Aprenser e Ensinar GeografiaRayanne CostaAinda não há avaliações
- Análise Da História Da Teoria Da Relatividade Restrita em Livros Didáticos Do Terceiro Ano Do Ensino Médio Indicados No PNLEM 2015/2017Documento13 páginasAnálise Da História Da Teoria Da Relatividade Restrita em Livros Didáticos Do Terceiro Ano Do Ensino Médio Indicados No PNLEM 2015/2017ANTONIO JUNIO DE CASTRO SILVAAinda não há avaliações
- Conteúdo, Metodologia E Prática Do Ensino de Ciências E Educação AmbientalDocumento10 páginasConteúdo, Metodologia E Prática Do Ensino de Ciências E Educação AmbientalCássia Rosângela Oliveira da SilvaAinda não há avaliações
- Gaspar PDFDocumento11 páginasGaspar PDFMaria N. A. QueirozAinda não há avaliações
- Abordagens Ciencias Painel IntegradoDocumento6 páginasAbordagens Ciencias Painel Integradocvieira.analauraAinda não há avaliações
- 0103 636X Bolema 31 59 1045Documento16 páginas0103 636X Bolema 31 59 1045jeanne_passosAinda não há avaliações
- Investigando A Energia Nuclear em Sala de AulaDocumento19 páginasInvestigando A Energia Nuclear em Sala de AulaBruno CostaAinda não há avaliações
- Banner - Modelo (Norte e Nordeste)Documento1 páginaBanner - Modelo (Norte e Nordeste)Samuel SoaresAinda não há avaliações
- Anaturezadacienciaemlivr TrabalhoDocumento12 páginasAnaturezadacienciaemlivr TrabalhoFelipe VieiraAinda não há avaliações
- História Da Física No Século XIXDocumento18 páginasHistória Da Física No Século XIXHamilton CorrêaAinda não há avaliações
- A História Da Ciência No Ensino Da Termodinâmica PDFDocumento16 páginasA História Da Ciência No Ensino Da Termodinâmica PDFluisricardoifmaAinda não há avaliações
- ACFrOgDXxh2mij1q3HiUvJvrtdWBlYtpLL Ob2CEVnmwHxIUt5SSrEj8IgrsgHUgSydCVP2JLVC5biSd jGyW9KFQ3mL1C9WIYe5CJU1oko RaQZQ2mjduLfw6Hfr4p wzdBn8CryAskQrqN5fFbDocumento14 páginasACFrOgDXxh2mij1q3HiUvJvrtdWBlYtpLL Ob2CEVnmwHxIUt5SSrEj8IgrsgHUgSydCVP2JLVC5biSd jGyW9KFQ3mL1C9WIYe5CJU1oko RaQZQ2mjduLfw6Hfr4p wzdBn8CryAskQrqN5fFbJonas SantosAinda não há avaliações
- PortfólioDocumento43 páginasPortfólioAna PaulaAinda não há avaliações
- Multiverso Das CienciasDocumento5 páginasMultiverso Das CienciasLane LopesAinda não há avaliações
- Lago Et Al 2019 A Investigação Científica-Cultural Como Forma de Superar o EncapsulamentoDocumento22 páginasLago Et Al 2019 A Investigação Científica-Cultural Como Forma de Superar o EncapsulamentoLeonardo LagoAinda não há avaliações
- 2009 Fafipa Fisica Artigo Maria Ilda TanakaDocumento31 páginas2009 Fafipa Fisica Artigo Maria Ilda TanakaVanin Silva De SouzaAinda não há avaliações
- Artigo para AD EF9Documento18 páginasArtigo para AD EF9Elton RodriguesAinda não há avaliações
- Referencial Teórico SeedDocumento4 páginasReferencial Teórico SeedMelissa Conde OleskowiczAinda não há avaliações
- Tendencias Contemporâneas No Ensino de BiologiaDocumento11 páginasTendencias Contemporâneas No Ensino de BiologiaThiago OliveiraAinda não há avaliações
- Artigo - História e Filosofia Da CiênciaDocumento11 páginasArtigo - História e Filosofia Da CiênciaLarissa de jesusAinda não há avaliações
- 2 - Eneq 2020 - 247915 - MaDocumento11 páginas2 - Eneq 2020 - 247915 - Marlelis84Ainda não há avaliações
- Física Moderna No Ensino MédioDocumento7 páginasFísica Moderna No Ensino MédioSilvano SousaAinda não há avaliações
- DownloadDocumento7 páginasDownloadGuilherme Maia SawyerAinda não há avaliações
- Aprendizagem Das Ciências NaturaisDocumento43 páginasAprendizagem Das Ciências Naturaisluzilene da silvaAinda não há avaliações
- 1o Trabalho Didactica GeralDocumento18 páginas1o Trabalho Didactica GeralMacedo GeloAinda não há avaliações
- Abordagem Histórico-Didática para o Ensino Da Teoria Eletrofraca Utilizando Simulações Computacionais de Experimentos HistóricosDocumento21 páginasAbordagem Histórico-Didática para o Ensino Da Teoria Eletrofraca Utilizando Simulações Computacionais de Experimentos HistóricoslendelhatAinda não há avaliações
- DownloadDocumento16 páginasDownloadMundo_da_QuimicaAinda não há avaliações
- Bueno Et Al - O Ensino de Química Por Meio de Atividades ExperimentaisDocumento8 páginasBueno Et Al - O Ensino de Química Por Meio de Atividades ExperimentaisFabiana HenckleinAinda não há avaliações
- (Mateus Gomes) História Da Energia No Ensino de FísicaiDocumento29 páginas(Mateus Gomes) História Da Energia No Ensino de Físicailucasmcd386Ainda não há avaliações
- Laburú e Gouveia - A Aprendizagem Da Representação Dos Circuitos ElétricosDocumento11 páginasLaburú e Gouveia - A Aprendizagem Da Representação Dos Circuitos ElétricosRaian SânderAinda não há avaliações
- Aquecedor Solar - Uma Possibilidade de Ensino de Física Através de Temas GeradoresDocumento27 páginasAquecedor Solar - Uma Possibilidade de Ensino de Física Através de Temas GeradoresnararobertaAinda não há avaliações
- A Interdisciplinaridade Nas Ciencias FisicasDocumento13 páginasA Interdisciplinaridade Nas Ciencias FisicasLuciano JuniorAinda não há avaliações
- Pronúncias na educação em ciências e matemáticaNo EverandPronúncias na educação em ciências e matemáticaAinda não há avaliações
- Estudo do Meio: uma metodologia para a construção do conceito de espaço geográfico no Ensino MédioNo EverandEstudo do Meio: uma metodologia para a construção do conceito de espaço geográfico no Ensino MédioAinda não há avaliações
- Conhecimento científico na pré-escola: da sala de aula ao laboratório de ciênciasNo EverandConhecimento científico na pré-escola: da sala de aula ao laboratório de ciênciasAinda não há avaliações
- 2017.1 - Fisica Moderna - Lista de Exercícios 1 - Relatividade RestritaDocumento2 páginas2017.1 - Fisica Moderna - Lista de Exercícios 1 - Relatividade Restritayohfonseca88100% (1)
- Multiverso Das CienciasDocumento5 páginasMultiverso Das CienciasLane LopesAinda não há avaliações
- P - Tudo 1 MarcadoDocumento214 páginasP - Tudo 1 MarcadoJimmy Bomfim de JesusAinda não há avaliações
- Mira FernandesDocumento24 páginasMira FernandesAnonymous HsLEVOku3Ainda não há avaliações
- (O Princípio Da Relatividade 6) Ayni R. Capiberibe - Ensaios Originais (Henri Poincaré) - Alrisha (2020)Documento450 páginas(O Princípio Da Relatividade 6) Ayni R. Capiberibe - Ensaios Originais (Henri Poincaré) - Alrisha (2020)aaaaAinda não há avaliações
- Cap 02Documento9 páginasCap 02marcos henriqueAinda não há avaliações
- Oe-Trabalho Valendo 3 Pontos. 3bimDocumento2 páginasOe-Trabalho Valendo 3 Pontos. 3bimIgor peres Dos santosAinda não há avaliações
- Fred Alan Wolf - O Tecido Espaço-Tempo (2014, Cultrix)Documento307 páginasFred Alan Wolf - O Tecido Espaço-Tempo (2014, Cultrix)DanielPiamolini100% (3)
- TD de Física - Relatividade EspecialDocumento1 páginaTD de Física - Relatividade EspecialRonaldo CristinoAinda não há avaliações
- Lista8 Moderna ResolvidaDocumento43 páginasLista8 Moderna ResolvidaFilipe MesquitaAinda não há avaliações
- Cosmologia-Relatividade Geral PDFDocumento51 páginasCosmologia-Relatividade Geral PDFRafael HenriqueAinda não há avaliações
- Einstein - Artigos Que Revolucionaram A FísicaDocumento11 páginasEinstein - Artigos Que Revolucionaram A FísicaJamelMartinsAinda não há avaliações
- RelatividadeDocumento32 páginasRelatividadeÍtalo OliveiraAinda não há avaliações
- 8532-Texto Do Artigo-36295-1-10-20171218Documento5 páginas8532-Texto Do Artigo-36295-1-10-20171218Mauricio FerrazAinda não há avaliações
- SEGUNDO ANO 3° e 4° BIM PDFDocumento62 páginasSEGUNDO ANO 3° e 4° BIM PDFFantoon FantoonXeroxAinda não há avaliações
- Amoroso Costa e o Primeiro Livro Brasileiro Sobre A Relatividade GeralDocumento8 páginasAmoroso Costa e o Primeiro Livro Brasileiro Sobre A Relatividade GeralClaudio BorgesAinda não há avaliações
- Inverno Astrofísico 2021Documento97 páginasInverno Astrofísico 2021Valnei NascimentoAinda não há avaliações
- Aula12 RelatividadeDocumento2 páginasAula12 Relatividadethiago_ccosta4434Ainda não há avaliações
- Avaliação Física Moderna 4ºbim 2016Documento3 páginasAvaliação Física Moderna 4ºbim 2016Rafael OliveiraAinda não há avaliações
- Teoria Da Relatividade Especial MARTINS PDFDocumento14 páginasTeoria Da Relatividade Especial MARTINS PDFFernando GuilgerAinda não há avaliações
- Aula 2-1Documento12 páginasAula 2-1Felipe souzaAinda não há avaliações
- Fisica Regular Aluno Autoregulada 1s 3bDocumento34 páginasFisica Regular Aluno Autoregulada 1s 3bEric Teixeira0% (1)
- Sobre A Concepção Empirico Indutivista No Ensino de Ciências PDFDocumento18 páginasSobre A Concepção Empirico Indutivista No Ensino de Ciências PDFOsvaldo JoséAinda não há avaliações
- Relativ I DadeDocumento19 páginasRelativ I DadePedro NettoAinda não há avaliações
- A Vida Acadêmica de Albert EinsteinDocumento12 páginasA Vida Acadêmica de Albert EinsteinLeandro Novaes100% (1)
- Fundamentos de Teoria Da Relatividade e Física QuânticaDocumento316 páginasFundamentos de Teoria Da Relatividade e Física QuânticaThiago Laurindo 2Ainda não há avaliações
- A Relatividade Einsteiniana Uma Abordagem Conceitual e Epistemológica PDFDocumento271 páginasA Relatividade Einsteiniana Uma Abordagem Conceitual e Epistemológica PDFTainá OliveiraAinda não há avaliações
- Atomo de HidrogenioDocumento9 páginasAtomo de HidrogenioBassem MakhoulAinda não há avaliações