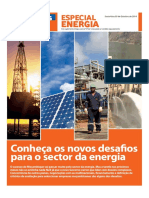Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Geologia Do Petroleo
Geologia Do Petroleo
Enviado por
Helton Luiz CaladoDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Geologia Do Petroleo
Geologia Do Petroleo
Enviado por
Helton Luiz CaladoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
www.pgt.com.
br
Geologia do Petrleo
PGT - Petroleum Geoscience Technology
www.pgt.com.br
Geologia do Petrleo
www.pgt.com.br
Geologia do Petrleo
www.pgt.com.br
Sumrio
pgina
1. Intoduo
5 5 7 8
2. Petrleo
2.1 Composio do Petrleo 2.2 Origem do Petrleo 2.3 Fatores condicionantes da ocorrncia de petrleo em bacias sedimentares
9 9 10 12
3. Rocha Geradora
3.1 Composio da Matria Orgnica 3.2 Produo e preservao da matria orgnica 3.3 Formao do querognio
14 14 17
4. Gerao e Migrao do Petrleo
4.1 Converso do querognio em petrleo 4.2 Migrao primria e secundria
18 18 20
5. Rocha Reservatrio
5.1 Porosidade e permeabilidade 5.2 Qualidade do reservatrio
21 21 22 23
6. Trapas
6.1 Trapas e rochas selantes 6.2 Alterao do petrleo na trapa 6.3 Clculo de reservas e mtodos de produo
Geologia do Petrleo
www.pgt.com.br
Geologia do Petrleo
www.pgt.com.br
1. Introduo
Este trabalho se prope a sumarizar os principais conceitos relativos formao de jazidas petrolferas, do processo de acumulao da matria orgnica nos sedimentos, passando pela gerao e migrao do petrleo, at sua acumulao nos trapas. Baseouse na experincia profissional dos autores e no contedo dos livros Petroleum Formation and Ocurrence (Tissot & Welte, 1984) e Elements of Petroleum Geology (Selley, 1998) e de algumas das referncias neles contidas.
2. Petrleo
O petrleo uma mistura complexa de hidrocarbonetos e quantidades variveis de nohidrocarbonetos. Quando ocorre no estado lquido em reservatrios de subsuperfcie ou em superfcie, denominado de leo (ou leo cru, para diferenciar do leo refinado). conhecida como condensado a mistura de hidrocarbonetos que encontra-se no estado gasoso em subsuperfcie e torna-se lquida na superfcie. J o termo gs natural se refere frao do petrleo que ocorre no estado gasoso ou em soluo no leo em reservatrios de subsuperfcie. Outra forma de ocorrncia dos hidrocarbonetos so os hidratos de gs, que consistem em cristais de gelo com molculas de gs (etano, propano e, principalmente, metano). Os hidratos de gs ocorrem em condies bastante especficas de presso e temperatura, sendo mais comuns em depsitos rasos nas regies polares ou em guas profundas em vrios pontos do planeta.
2.1. Composio do petrleo
O petrleo contm centenas de compostos diferentes. Estudos realizados em amostras de leo do campo de Ponca City (Oklahoma, EUA) foram identificados cerca de 350 hidrocarbonetos, 200 compostos de enxofre, alm de diversos no-hidrocarbonetos. Em termos elementares, o petrleo composto essencialmente por carbono (80 a 90% em peso), hidrognio (10 a 15%), enxofre (at 5%), oxignio (at 4%), nitrognio (at 2%) e traos de outros elementos (ex: nquel, vandio, etc). A composio do
Geologia do Petrleo
www.pgt.com.br
petrleo geralmente descrita em termos da proporo de hidrocarbonetos saturados, hidrocarbonetos aromticos e no-hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos saturados, compostos de C e H unidos por ligaes simples, incluem os alcanos normais (parafinas normais ou n-alcanos), os isoalcanos (isoparafinas ou alcanos ramificados) e os cicloalcanos (alcanos cclicos ou naftenos). Os n-alcanos com menos de 5 tomos de carbono (metano, etano, propano e butano) ocorrem sob a forma de gs em condies normais de presso e temperatura, enquanto aqueles de 5 a 15 tomos de carbono so lquidos e os com mais de 15 tomos de carbono variam de lquidos viscosos a slidos. A maior parte dos alcanos normais presentes no petrleo possuem at 40 tomos de carbono. Os isoalcanos esto presentes pricipalmente com compostos de at 10 tomos de carbono, embora ocorram com at 25 tomos. Os cicloalcanos podem apresentar at 6 anis de carbono, cada qual com 5 ou 6 tomos de carbono. Iso- e cicloalcanos ocorrem principalmente no estado lquido. Os Hidrocarbonetos aromticos so compostos que apresentam o anel aromtico (benzeno) e ocorrem sempre no estado lquido. Podem apresentar mais de um anel aromtico, como os naftalenos (2 anis) e os fenantrenos (3 anis). O tolueno, com apenas um ncleo benznico, o composto aromtico mais comum no petrleo, seguido pelo xileno e o benzeno. Finalmente, os no-hidrocabonetos so compostos que contm outros elementos, alm do carbono e hidrognio, denominados de heterotomos. Como os elementos nitrognio, enxofre e oxignio so os heterotomos mais comuns, esses compostos so geralmente conhecidos como NSO. Tambm comum a ocorrncia de metais (especialmente nquel e vandio) associados matria orgnica em compostos denominados de organometlicos. As resinas e asfaltenos so compostos NSO de alto peso molecular, pouco solveis em solventes orgnicos. Sua estrutura bsica consiste de camadas de compostos poliaromticos condensados, empilhadas sob a forma de agregados. A proporo de resinas e, principalmente, de asfaltenos no petrleo diretamente proporcional a sua viscosidade. Existem basicamente dois tipos de classificaes de leos. Aquelas propostas por engenheiros baseiam-se na composio e propriedades fsico-qumicas do leo (densidade, viscosidade, etc) e so voltadas para as reas de produo e refino. J as classificaes propostas por gelogos do nfase composio, sendo voltadas para a origem e evoluo do petrleo. Dentre as classificaes de carter geolgico, uma das mais usadas a proposta por Tissot & Welte (1978) que divide os leos em seis tipos: parafnicos, parafnico-naftnicos, naftnicos, aromticos intermedirios, aromtico-
Geologia do Petrleo
www.pgt.com.br
asflticos e aromtico-naftnicos. A composio de cada tipo reflete a origem, o grau de evoluo trmica e os processos de alterao a que o petrleo foi submetido. Os leos tambm so comumente chamados de leves ou pesados quando suas dendidades so, respectivamente, menores ou maiores do que a de gua. Os gases naturais, por sua vez, so classificados como gs seco ou mido. O gs seco composto essencialmente por metano, enquanto no gs mido esto presentes tambm etano, propano e butano em propores variveis. Alm dos hidrocarbonetos, outros compostos gasosos podem estar associados, como o dixido de carbono (CO2), gs sulfdrico (H2S), e mais raramente, Hlio (He) e hidrognio (H). O gs no-associado aquele que ocorre sozinho no reservatrio, e o gs associado ocorre junto com o o leo.
2.2. Origem do petrleo
As primeiras teorias que procuraram explicar a ocorrncia do petrleo postulavam uma origem inorgnica, a partir de reaes que ocorreriam no manto. Ainda hoje existem autores que advogam uma origem inorgnica para o petrleo, seja a partir da polimerizao do metano proveniente do manto e migrado atravs de falhas, ou a partir de reaes equivalentes s empregadas na sntese de Fischer-Tropsch, e que encontrariam condies favorveis sua ocorrncia nas zonas de subduco. Diversos fatos, no entanto, favorecem uma origem orgnica para a maior parte dos hidrocarbonetos encontrados prximos a superfcie da Terra, em espacial para aqueles com dois ou mais tomos de carbono. Em primeiro lugar, quase todo o petrleo encontrado em rochas reservatrio de bacias sedimentares. As ocorrncias de petrleo em rochas do embasamento, esto quase todas associadas rochas sedimentares adjacentes. A presena e a quantidade de hidrocarbonetos em exalaes provenientes de vulces ou de falhas profundas durante terremotos menos frequente e muito menor do que o esperado caso os mesmos tivessem uma origem mantlica. Outrossim, existem tambm evidncias qumicas da origem orgnica, como a presena no petrleo de compostos cuja estrutura molecular mesma de substncias encontradas nos seres vivos (ex: os esteranos encontrados no petrleo so o produto da degradao dos esterides encontrados nas algas). Em suma, os dados disponveis atualmente indicam que o petrleo gerado a partir da transformao da matria orgnica acumulada nas rochas sedimentares, quando Geologia do Petrleo
www.pgt.com.br
submetida s cndies trmicas adequadas. Cabe ressaltar que o metano pode ter origem inorgnica (proveniente do manto) ou orgnica (degradao da matria orgnica), cada qual com caractersticas isotpicas distintas. Traos de hidrocarbonetos de origem inorgnica (?) tambm so encontrados em meteoritos.
2.3. Fatores condicionantes da ocorrncia de petrleo em bacias sedimentares
A formao de uma acumulao de petrleo em uma bacia sedimentar requer a associao de uma srie de fatores: (a) a existncia de rochas ricas em matria orgnica, denominadas de rochas geradoras; (b) as rochas geradoras devem ser submetidas s condies adequadas (tempo e temperatura) para a gerao do petrleo; (c) a existncia de uma rochas com porosidade e permeabilidade necessrias acumulao e produo do petrleo, denominada de rochas reservatrio; (d) a presena de condies favorveis migrao do petrleo da rocha geradora at a rocha reservatrio; (e) a existncia de uma rocha imperpevel que retenha o petroleo, denominada de rocha selante ou capeadora; e (f) um arranjo geomtrico das rochas reservatrio e selante que favorea a acumulao de um volume significativo de petrleo. Uma acumulao comercial de petrleo o resultado de uma associao adequada destes fatores no tempo e no espao. A ausncia de apenas um desses fatores inviabiliza a formao de uma jazida petrolfera.
Geologia do Petrleo
www.pgt.com.br
3. Rocha Geradora
Uma rocha geradora deve possuir matria orgnica em quantidade e qualidade adequadas e submetida ao estgio de evoluo trmica necessrio para degradao do querognio. aceito de modo geral, que uma rocha geradora deve conter um mnimo de 0,5 a 1,0% de teor de carbono orgnico total (COT). Os aspectos volumtricos da rocha geradora (espessura e extenso lateral) tambm no devem ser ignorados, pois uma rocha com quantidade e qualidade da matria orgnica adequadas pode ser, por exemplo, muito delgada para gerar quantidades comerciais de petrleo. O termo matria orgnica se refere ao material presente nas rochas sedimentares, que derivado da parte orgnica dos seres vivos. A quantidade e qualidade da matria orgnica presente nas rochas sedimentares refletem uma srie de fatores, tais como a natureza da biomassa, o balano entre produo e preservao de matria orgnica, e as condies fsicas e qumicas do paleoambiente deposicional.
3.1. Composio da matria orgnica
Os organismos so de modo geral constitudos pelos mesmos compostos: lipdios, protenas, carbohidratos e, nas plantas superiores, lignina. A proporo entre estes compostos, no entanto, difere entre as diversos tipos de organismos. Os lpidios englobam as gorduras e cras, cuja funes so de armazenamento de energia e proteo das clulas, respectivamente. Praticamente insolveis em gua, as gorduras consiste na mistura de vrios triglicerdeos, classificados quimicamente como steres. Quando hidrolizados, os glicerdeos do origem a glicerol e cidos graxos. J nas cras, o glicerol substitudo por lcoois complexos, bem como esto presentes n-alcanos com vrios tomo de carbono. Alm dos lipdios tpicos, existem substncias similares, como alguns pigmentos (ex: clorofila), e os terpenides e esterides, que cumprem funes protetoras das clulas. As protenas consistem basicamente em polmeros de aminocidos, nos quias se encontra a maior parte do nitrognio presente nos organismos. As protenas podem atuar tanto como constituinte de diversos materiais (ex: msculos) como na forma de enzimas, catalizando as mais variadas reaes bioqumicas. Na presena de gua e sob a ao de enzimas, as protenas podem ser quebradas em seus aminocidos individuais. Geologia do Petrleo
www.pgt.com.br
Os carboidratos englobam os acares e seu polmeros (mono-, oligo- e polissacardeos) e esto entre os compostos mais importantes nos seres vivos. Podem servis como fonte de energia ou como constituinte de plantas (celulose) e animais (quitina). Embora praticamente restrita aos vegetais superiores, a celulose o carboidrato mais abundante na natureza. Insolveis em gua, os carboidrato podem ser hidrolisados, transformandose em accares como 5 ou 6 tomos de carbono, os quais so solveis. A lignina consiste basicamente em compostos poliaromticos (polifenis) de alto peso molecular, constituindo estruturas tridimensionais dispostas entre os agregados de celulose que constituem os tecidos das plantas. So sintetizados pelas plantas terrestres a partir da desidratao e condensao de lcoois aromticos. Nos diversos grupos de organismos as abundncias relativas desses compostos podem variar consideravelmente. As plantas terrestres, por exemplo, so constitudas principalmente por carbohidratos (celulose, 30 a 50%) e lignina (15 a 25%), e secundariamente por protenas e lipdios, enquanto o fitoplncton marinho composto predominantemente por protenas (at 50%), lipdios (5 a 25%) e carboidratos (at 40%). Mesmo entre compostos que ocorrem na proporo de ppm ou ppb (partes por milho e por bilho) so observados contrastes marcantes entre diferentes tipos de organismos. A diferena na distribuio e proporo relativa entre os compostos tambm se reflete na composio elementar da matria orgnica. Assim, a biomassa de origem continental mais rica em oxignio e mais pobre em hidrognio do que a biomassa de origem marinha, uma vez que as plantas terrestres so constitudas principalmente por lignina e celulose, com alta proporo de compostos aromticos e funes oxigenadas. Como conseqncia, a matria orgnica terrestre possui uma razo elementar H/C entre 1,3 e 1,5, enquanto a matria orgnica marinha apresenta valores na faixa de 1,7 a 1,9. A composio da matria orgnica preservada nas rochas sedimentares, entretanto, no depende apenas da natureza da biomassa dominante no peleoambiente, j que a composio original pode ser modificada por uma srie de processos sin- e psdeposicionais.
3.2. Produo e preservao da matria orgnica
O ciclo do carbono constitui um dos mais importantes ciclos biogeoqumicos, no s por sua complexidade e abrangncia, como pela importncia econmica, na compreenso da origem e ocorrncia de combustveis fsseis. A maior parte do carbono orgnico nos ambientes aquticos ocorre sob a forma de carbono dissolvido, sendo o
10
Geologia do Petrleo
www.pgt.com.br
restante constudo de natureza particulada. O carbono orgnico dissolvido, composto principalmente por substncias hmicas, protenas, carboidratos e lipdios (Esteves, 1988), consiste no produto da decomposio de plantas e animais e da excreo destes organismos. J o carbono orgnico particulado compreende a matria orgnica em suspenso, incluindo a pequena frao representada pelos organismos vivos. O principal mecanismo de produo de matria orgnica a fotossntese, processo no qual gua e dixido de carbono so convertidos em glicose, gua e oxignio. A partir da glicose so formados os polissacardeos e os outros compostos orgnicos necessrios vida. Os maiores produtores de matria orgnica nos ambientes aquticos so os organismos fitoplanctnicos. Estima-se que a produo mundial de matria orgnica de origem fitoplanctnica de cerca de 550 bilhes de toneladas/ano, enquanto a matria orgnica originada dos organismos bentnicos, por exemplo, no ultrapassa 200 milhes de toneladas/ano. Embora atualmente a produo primria de origem terrestre seja equivalente aqutica, a maior exposio ao oxignio limita sua preservao. No continente, as condies climticas (temperatura, incidncia de luz solar, umidade) constituem o principal fator condicionante da produtividade primria. De fato, nos ambientes desrticos ou polares a produtividade baixa, enquanto nas regies tropicais, a produtividade alta. J no meio aqutico, a produtividade primria condicionada principalmente pela luminosidade, temperatura e disponibilidade de nutrientes (especialmente fsforo e nitrognio), embora seja afetada tambm por uma srie de fatores ambientais, como salinidade e pH. No que diz respeito temperatura e salinidade, as melhores condies ocorrem nas zonas de clima temperado, onde a produtividade mais alta do que nos mares polares ou equatoriais. No caso do suprimento de nutrientes, a origem pode ser externa (descarga de grandes rios) ou interna (reciclagem da prpria biomassa). No caso dos oceanos, a disponibilidade de nutrientes pode ser incrementada pelo fenmeno da ressurgncia. Devido ao dos ventos e das correntes ocenicas, guas frias e ricas em nutrientes, vindas de reas mais profundas, chegam s regies costeiras acarretando um grande aumento da produtividade primria. A exposio da matria orgnica ao oxignio (em superfcie) resulta na sua degradao. Nos ambientes aquticos, o grau de preservao da matria orgnica depende da concentrao de oxignio e do tempo de trnsito da biomassa ao longo da coluna dgua e de exposio na interface gua/sedimento. Assim em guas xicas a matria orgnica tende a ser degrada, enquanto em guas anxicas, h melhores condies de preservao. Em bacias cuja toda a coluna dgua xica, altas taxas de sedimentao podem auxiliar na preservao da matria orgnica, retirando-a da interface gua/sedimento. Geologia do Petrleo
11
www.pgt.com.br
A atividade de organismos heterotrficos tambm exerce importante um papel no processo de degradao da matria orgnica. Sob condies xicas, as bactrias aerbicas e de organismos metazorios desempenham um importante papel na degradao da biomassa primria. Sob condies disxicas/anxicas, a ao desses organismos limitada ou mesmo eliminada, e a alterao da matria orgnica passa a ser realizada por bactrias anaerbicas, que empregam nitratos e sulfatos como agentes oxidantes. J na ausncia desses agentes oxidantes, a matria orgnica decomposta por bactrias metanognicas. Nos sistemas lacustres de gua doce (onde baixa a disponibilidade de sulfato) a metanognese pode ser responsvel, junto com a oxidao por oxignio livre, pela decomposio da maior parte da matria orgnica produzida. Estima-se que em mdia 0,1% da matria orgnica produzida pelos organismos fotossintticos preservada nos sedimentos. Os ambientes mais favorveis preservao da matria orgnica so os mares restritos e os lagos profundos.
3.3. Formao do querognio
Aps sua incorporao nos sedimentos e ainda submetida a pequenas profundidades e baixas temperaturas (at 1000m e 50C), a matria orgnica passa por uma srie de transformaes denominada de diagnese. A diagnese tem incio com a degradao bioqumica da matria orgnica pela atividade de microorganismos (bactrias, fungos, etc) aerbicos e anaerbicos que vivem na poro superior da coluna sedimentar (principalmente no primeiro metro). As protenas e carbohidratos so transformadas em seus aminocidos e acares individuais, os lpidios so transformados em glicerol e cidos graxos e a lignina, em fenis e cidos aromticos. As protenas e carbohidratos so os compostos mais instveis, enquanto os lipdios e a lignina so mais resistentes degradao. Essa transfomaes so acompanhadas pela gerao de dixido de carbono, gua e metano. O resduo da degradao microbiana passa em seguida por mudanas qumicas (perda de grupos funcionais e polimerizao) que resultam numa progressiva condensao e insolubilizao da matria orgnica. Ao longo deste processo, os biopolmeros (compostos sistetizados pelos organismos) so transformados nos geopolmeros encontrados nas rochas sedimentares. Alguns lipdios e hidrocarbonetos sintetizados pelas plantas e animais resistem degradao microbiana, sofrendo somente pequenas mudanas em
12
Geologia do Petrleo
www.pgt.com.br
sua composio e estrutura molecular. Estas substncias, encontradas em sedimentos recentes e rochas sedimentares so chamadas de fsseis geoqumicos ou moleculares, marcadores biolgicos ou biomarcadores. O produto final do processo de diagnese o querognio, definido como a frao
insolvel da matria orgnica presente nas rochas sedimentares. Alm do querognio, tambm h uma frao solvel, composta por hidrocarbonetos e no-hidrocarbonetos derivados de biopolmeros pouco alterados, e denominada de betume. O querognio a forma mais importante de ocorrncia de carbono orgnico na Terra, sendo 1000 vezes mais abundante do que o carvo e o petrleo somados. Quimicamente, o querognio uma macromolcula tridimensional constituda por
ncleos aromticos (camadas paralelas de anis aromticos condensados), ligados por pontes de cadeias alifticas lineares ou ramificadas. Tanto os ncleos quanto as pontes apresentam grupos funcionais com heterotomos (ex: steres, cetonas, etc). Ao microscpio, normalmente possvel identificar estruturas remanescentes da matria orgnica original, tais como tecidos vegetais, plens e esporos, colnias de algas, etc. Em muitos casos, entretanto, o processo de diagnese pode obliterar a estrutura original, o que resulta a formao de um querognio amorfo. A proporo entre os trs elementos mais abundantes no querognio (C, H e O) varia consideravelmente em funo da origem e evoluo da matria orgnica. Com base nas razes elementares H/C e O/C e em dados qumicos e petrogrficos possvel classificar os querognio como dos tipos I, II e III: (a) o querognio do tipo I constitudo predominantente por cadeias alifticas, com poucos ncleos aromticos. Rico em hidrognio (alta razo H/C), derivado principalmente de lipdios de origem alglica. Normalmente encontrado em rochas geradoras depositadas em ambiente lacustre. (b) o querognio do tipo II contm uma maior proporo de ncleos aromticos, anis naftnicos e grupos funcionais oxigenados. Consequentemente, mais pobre em hidrognio e mais rico em oxignio do que o querognio do tipo I. Geralmente derivado de matria orgnica de origem marinha. (c) o querognio do tipo III constitudo predominantemente por ncleos aromticos e funes oxigenadas, como poucas cadeias alifticas. Apresenta baixos valores para a razo H/C e altos valores de O/C. Derivado de matria orgnica de origem terrestre, este tipo frequentemente encontrado em rochas geradoras depositadas em ambiente marinho deltaico. Geologia do Petrleo
13
www.pgt.com.br
A composio do petrleo gerado a partir de cada querognio reflete sua composio. Assim, um leo derivado de um querognio do tipo I apresenta um elevada abundncia relativa de compostos alifticos, enquanto um leo proveniente de um querognio do tipo II possui em geral um maior contedo de enxofre. O querognio do tipo I possui o maior potencial para gerao de petrleo, seguido pelo tipo II, com um potencial moderado para a gerao de leo e gs, e pelo tipo III, que possui um baixo potencial para a gerao de leo. Nas rochas sedimentares, alm dos mencionados acima, tambm pode ocorrer um tipo denominado de querognio residual, derivado de matria orgnica intensamente retrabalhada e oxidada. Com baixssimo contedo de hidrognio e abundncia de oxignio, o querognio residual (ou inerte) no apresenta potencial para a gerao de hidrocarbonetos. Cabe lembrar que comum a ocorrncia de tipos de querognio com caractersticas intermedirias entre os tipos citados acima. Tal fato pode resultar tanto da mistura de matria orgnica terrestre e marinha em diferentes propores, como de mudanas qumicas decorrentes da degradao qumica e bioqumica sofrida no incio da diagnese.
4. Gerao e Migrao do Petrleo
Na medida em que prossegue a subsidncia da bacia sedimentar, o querognio soterrado a maiores profundidades. O aumento de temperatura acarreta a degradao trmica do querognio e na gerao do petrleo, que sob as condies adequadas expulso da rocha geradora (processo conhecido como migrao primria) e se desloca atravs dos meio poroso at as trapas (migrao secundria).
4.1. Converso do querognio em petrleo
Com o soterramento da rocha geradora o querognio submetido a temperaturas progressivamente mais altas. Como forma de se adaptar as novas condies de presso
14
Geologia do Petrleo
www.pgt.com.br
e temperatura, o querognio passa por uma srie de transformaes que incluem, inicialmente, a liberao de grupos funcionais e heterotomos, seguida pela perda de hidrocarbonetos alifticos e cclicos, e acompanhadas por uma progressiva aromatizao da matria orgnica. Como consequncia das transformaes sofridas pelo querognio, so produzidos dixido de carbono, gua, gs sulfdrico, hidrocarbonetos, etc.
ESTGIO Diagnese
%Ro < 0,6
NVEL DE MATURAO Imaturo zona de leo
Catagnese 0,60-1,00 Catagnese 1,00-1,35
Maturo zona regressiva zona de gs mido zona de gs seco
Catagnese 1,35-2,00 Metagnese > 2,0 Senil
So reconhecidas trs fases na evoluo da matria orgnica em funo do aumento de temperatura: diagnese, catagnese e metagnese. A diagnese (discutida no captulo anterior) se d aps a deposio da matria orgnica, sob pequenas profundidades e baixas temperaturas, resultando na transformao da matria orgnica original em querognio. Durante a diagnese, o metano o nico hidrocarbonetos gerado em quantidades significativas. Na catagnese, o querognio submetido a temperaturas ainda maiores (da ordem de 50 a 150C), o que resulta na formao sucessiva de leo, condensado e gs mido. O final da catagnese alcanado no estgio em que o querognio completou a perda de suas cadeias alifticas. Na metagnese, alcanada sob temperatura muito elevadas (acima de 150-200C), a matria orgnica representada basicamente por gs seco (metano) e um resduo carbonoso. Este estgio corresponde ao incio do metamorfismo (facies xisto-verde). O termo maturao se refere ao estgio de evoluo trmica alcanado pelas rochas geradoras. Uma rocha chamada de imatura quando o querognio encontra-se ainda na fase de diagnese e ainda no ocorreu a gerao de volumes significativos de petrleo. Ao passar pela catagnese, a rocha geradora considerada matura. No incio da catagnese, o querognio passa inicialmente pela janela de leo (zona de gerao de leo ou oil window), estgio em que predomina largamente a gerao dos Geologia do Petrleo
15
www.pgt.com.br
hidrocarbonetos lquidos (iso-, ciclo- e n-alcanos de mdio peso molecular) sobre os gasosos. Ainda durante a catagnese, sob temperaturas mais elevadas, o querognio passa pela zona regressiva de gerao de leo, na qual aumenta a proporo de nalcanos de baixo peso molecular. No final da catagnese, a rocha geradora atingiu a janela de gs (zona de gerao de gs ou gas window), sendo considerada senil. Diversos parmetros qumicos, ticos e moleculares so utilizados na definio do grau de maturao de uma rocha geradora. Um dos mais empregados a medida da reflectncia da vitrinita (%Ro), tcnica desenvolvida originalmente para o estudo de carves e que consiste na determinao, ao microscpio, do poder refletor das partculas de vitrinita (parte do tecido de plantas superiores) presentes no querognio. Existe uma relao entre os valores de reflectncia da vitrinita e os estgio evolutivos do querognio (ver tabela abaixo). Para caracterizar a evoluo do processo de transformao do querognio em petrleo so empregados dois parmetros: o potencial gentico (ou potencial gerador), definido como a quantidade de petrleo (leo e gs) que um querognio capaz de gerar, e a taxa de transformao, definida como a relao entre a quantidade de petrleo gerado e o potencial gentico original. O potencial gerador original se refere ao querognio que ainda no foi submetido catagnese, ou seja, cuja taxa de transformao zero. A partir do incio da catagnese, a converso do querognio em petrleo ocasiona um progressivo aumento da taxa de transformao associado reduo do potencial gerador, o qual passa a ser denominado de residual. Sob condies extremas de evoluo trmica (metagnese) o potencial gerador residual do querognio pode ser reduzido zero enquanto a taxa de transformao chega a 100%. Para a determinao do potencial gerador e da quantidade de petrleo normalmente empregada a tcnica da pirlise Rock-Eval, que simula o processo de degradao trmica do querognio. Uma pequena quantidade de amostra de rocha (em torno de 250mg) submetida a temperaturas de 300 a 600C por um perodo de cerca de 25 minutos, sob atmosfera inerte, para que no haja combusto da matria orgnica. Nos primeiros 8 minutos, sob temperaturas de 300C, os hidrocarbonetos livres presentes na amostra de rocha so vaporizados, quantificados por um detector de ionizao de chama, e representados no registro de pirlise pelo pico S1 (mgHC/gRocha). Em seguida, sob temperaturas de 300 a 600C, ocorre a degradao do querognio e a gerao de hidrocarbonetos, os quais so quantificados pelo mesmo detector de ionizao de chama e representados pelo pico S2 (mgHC/gRocha), que constitui o potencial gerador. A temperatura na qual ocorre o mximo de gerao de hidrocarbonetos, denominada
16
Geologia do Petrleo
www.pgt.com.br
de Tmax, um parmetro indicativo do estgio de evoluo trmica da rocha analisada. Finalmente, Durante a degradao do querognio tambm forma-se dixido de carbono (S3, em mgCO2/gRocha) proveniente da perda de grupos funcionais oxigenados. O processo de degradao trmica do querognio pode ser descrito pelas formulaes clssicas da cintica de primeira ordem. A converso do querognio controlada pela taxa de reao, cujo incremento em funo da temperatura descrito pela Lei de Arrhenius, a qual dependente da temperatura e dos parmetros cinticos (fator de frequncia e energia de ativao). O fator de frequncia (ou fator pr-exponencial, cuja unidade s-1) representa a frequncia de choques entre as molculas, e a energia de ativao (em kcal/mol), a quantidade de energia, necessrios para que uma determinada reao ocorra. Os trs tipos bsicos de querognio (tipos I, II e III) apresentam comportamentos cinticos distintos, como reflexo de suas diferenas composicionais. A premissa, adotada em alguns modelos, de que as taxas de reao aproximadamente dobram a cada 10C de aumento de temperatura no vlida, uma vez que aplicvel somente para reaes com baixas energias de ativao (no final da diagnese/incio da catagnese) e no leva em considerao as diferenas de comportamento cintico dos diferentes tipos de querognio.
4.2. Migrao primria e secundria
O processo de expulso do petrleo das rochas geradoras, fator essencial para a formao das acumulaes comerciais, denominado de migrao primria. Inmeras teorias e hipteses tem sido propostas a fim de explicar os mecanismos e os fatores que controlam a expulso do petrleo de sua rocha geradora. Dentre os diversos mecanismos sugeridos, podem ser citados o da migrao do petrleo em soluo na gua e por difuso molecular. Com o avano no conhecimento mostrou-se que estes mecanismos, embora atuantes, no possuem a eficincia necessria para a expulso de volumes significativos de petrleo. Atualmente, acredita-se que a migrao primria controlada basicamente pelo aumento de presso nas rochas geradoras em resposta progressiva compactao e expanso volumtrica ocasionada pela formao do petrleo. Deste modo, forma-se um gradiente de presso entre a rocha geradora e as camadas adjacentes, favorecendo a formao de microfaturas e o deslocamento de fases discretas de hidrocarbonetos. O encadeamento dos processos de aumento de presso, microfraturamento, movimentao de fluidos e subsequente alvio de presso constitui um ciclo que deve se repetir diversas
Geologia do Petrleo
17
www.pgt.com.br
vezes para que ocorra a expulso de quantidades significativas de petrleo. Balanos de massa baseados em dados geoqumicos de poos e nos resultados de experimentos de laboratrio indicam que a eficincia do processo de expulso pode ser elevada, alcanando valores de 50 a 90%. O deslocamento do petrleo entre a rocha geradora e a trapa denominada de migrao secundria. Consiste em um fluxo em fase contnua, impulsionado pelo gradiente de potencial de fluido. Este potencial pode ser subdividido em trs componentes: (a) o desequilbrio de presso causado pela compactao, (b) a flutuabilidade, que consiste na fora vertical resultante da diferena de densidade entre petrleo e gua de formao; e (c) a presso capilar, resultante da tenso interfacial entre as fases petrleo e gua e as rochas. Em rochas pelticas soterradas mais de 3km, o componente relacionado ao excesso de presso da gua domina o potencial de fluido do petrleo, enquanto em rochas grosseiras o componente flutuabilidade predomina. Ao atingir nveis mais rasos da bacia (profundidades menores que 2km), o componente relacionado ao excesso de presso da gua j no domina o potencial de fluido do petrleo. Consequentemente, a migrao do petrleo ocorre quando a flutuabilidade supera a presso capilar, enquanto sua acumulao se d onde a presso capilar supera a flutuabilidade.
5. Rocha Reservatrio
Denomina-se de reservatrio rocha com porosidade e permeabilidade adequadas acumulao de petrleo. A maior parte das reservas conhecidas encontra-se em arenitos e rochas carbonticas, embora acumulaes de petrleo tambm ocorrem em folhelhos, conglomerados ou mesmo em rochas gneas e metamrficas.
5.1. Porosidade e permeabilidade
A porosidade, representada pela letra grega , definida como a porcentagem (em volume) de vazios de uma rocha. Na maioria dos reservatrios a porosidade varia de 10 a 20%. A porosidade absoluta corresponde ao volume total de vazios, enquanto a
18
Geologia do Petrleo
www.pgt.com.br
porosidade efetiva se refere apenas aos poros conectados entre si. Os reservatrios normalmente apresentam variaes horizontais e verticais de porosidade. A quantidade, tamanho, geometria e grau de conectividade dos poros controlam diretamente a produtividade do reservatrio. Medida diretamente, em amostras de testemunho, ou indiretamente, atravs de perfis eltricos, a porosidade de uma rocha pode ser classificada como insignificante (0-5%), pobre (5-10%), regular (10-15%), boa (15-20%), ou muito boa (>20%). A porosidade primria (ou deposicional) formada durante a deposio dos sedimentos, podendo ser inter- ou intragranular. Este tipo de porosidade tende a diminuir como o soterramento, pelo efeito da compactao mecnica e da diagnese. J a porosidade secundria forma-se aps a deposio, geralmente como resultado da dissoluo de minerais. A porosidade primria mais comum em arenitos, enquanto a secundria ocorre com mais freqncia nas rochas carbonticas. As fraturas podem aumentar consideravelmente o volume de vazios das rochas. Em reservatrios arenticos e carbonticos as fraturas podem contribuir para o aumento da conectividade dos poros, enquanto nos folhelhos, rochas gneas e metamrficas as mesmas respondem por quase toda porosidade. A permeabilidade, representada geralmente pela letra K, a capacidade da rocha de transmitir fluido, sendo expressa em Darcys (D) ou milidarcys (md). Uma rocha tem 1D de permeabilidade quando transmite um fluido de 1cP (centipoise) de viscosidade com uma vazo de 1cm3/s, atravs de uma seo de 1cm2 e sob um gradiente de presso de 1atm/cm. Controlada principalmente pela quantidade, geometria e grau de conectividade dos poros, a permeabilidade de uma rocha medida diretamente, em amostras de testemunho, e pode se classificada como baixa (<1md), regular (1-10md), boa (10-100md), muito boa (100-1000md) e excelente (>1000md). A maior parte dos reservatrios possui permeabilidades de 5 a 500md. A permeabilidade raramente a mesma em todas as direes numa rocha sedimentar, sendo geralmente maior na horizontal do que na vertical. Uma vez que inversamente proporcional viscosidade do fluido, a permeabilidade de um reservatrio para o gs muito maior do que para o leo. Assim, enquanto um reservatrio pode produzir gs com apenas alguns milidarcys, para a produo de leo so necessrios pelo menos dezenas de milidarcys. Quando mais de um fluido divide o espao poroso (como o caso dos reservatrios com gua, leo e/ou gs), cada fluido apresenta uma permeabilidade relativa, que varia em funo da sua saturao. Ou seja, a permeabilidade mxima (permeabilidade absoluta, Ka) quando um fluido ocupa 100% dos poros, e decresce
Geologia do Petrleo
19
www.pgt.com.br
(permeabilidade relativa, Kr) medida que este fluido divide o espao poroso com outro fluido. necessria uma saturao mnima para que um fluido consiga fluir. No caso do leo, uma saturao mnima em torno de 20% necessria para que o mesmo possa fluir (Kr>0).
5.2. Qualidade do reservatrio
As caractersticas de permoporosidade de um reservatrio refletem basicamente a textura da rocha. De modo geral, porosidade e permeabilidade so diretamente proporcionais ao grau de seleo e tamanho dos gros e inversamente proporcional esfericidade. Outrossim, variaes laterais e verticais da permoporosidade so fortemente controladas pelas caractersticas do ambiente deposicional. Assim, em arenitos elicos com estratificao cruzada, a permeabilidade vertical e a horizontal podem apresentar diferenas de at duas ordens de grandeza. J em um corpo de arenito canalizado as permeabilidades podem aumentar significativamente das margens para o centro do paleocanal. A diagnese tambm pode alterar completamente as caractersticas permoporosas originais de uma rocha reservatrio. Em arenitos, os processos diagenticos mais importantes so a cimentao e a dissoluo. A cimentao quando em pequenas propores pode ser favorvel, uma vez que previne a produo de gros de areia junto com o leo. Quando em elevada proporo, a cimentao pode obliterar completamente a porosidade original, reduzindo a permeabilidade a praticamente zero. A calcita, o quartzo e as argilas autignicas (caolinita, ilita e montmorilonita) constituem os cimentos mais comuns em arenitos. Em rochas carbonticas os efeitos da diagnese so mais importantes, uma vez que a calcita menos estvel do que o quartzo. Conseqentemente, a cimentao e a dissoluo podem tanto piorar quanto melhorar a qualidade do reservatrio. Cabe ressaltar que a entrada do leo no reservatrio pode contribuir para preservar as caractersticas permoporosas do reservatrio, uma vez que o mesmo pode inibir a diagnese. A continuidade do reservatrio tambm constitui um fator crtico para a sua produtividade. De modo geral, se distingue a espessura total (gross pay) do reservatrio, que corresponde a distncia vertical entre o topo do reservatrio e o contato leo-gua, e a espessura lquida (net pay), equivalente a espessura de reservatrio de onde o petrleo pode efetivamente ser produzido.
20
Geologia do Petrleo
www.pgt.com.br
Os principais causas de descontinuidade em reservatrios so as barreiras diagenticas, deposicionais e tectnicas. As barreiras diagenticas so constitudas geralmente por nveis cimentados relacionados a fronts diagenticos e ao petrleo (ex: contato leogua). As barreiras deposicionais esto relacionadas com a forma dos corpos de rocha reservatrio e com a distribuio espacial das fcies a eles relacionadas. Assim, uma camada de arenito constituda por corpos delgados de areia intercalados com nveis contnuos de folhelhos pode se msotrar um reservatrio altamente compartimentado. J as barreiras tectnicas so representadas principalmente pelas falhas, que podem por si s constituir uma barreira como pode justapor rochas reservatrio e selante, dificultando o fluxo de fluidos. A definio da estratgia de produo, bem como o clculo das reservas de uma jazida, requerem um conhecimento detalhado da qualidade e continuidade do reservatrio em trs dimenses.
6. Trapas
Trapas so situaes geolgicas em que o arranjo espacial de rochas reservatrio e selante possibilita a acumulao de petrleo.
6.1. Trapas e rochas selantes
Uma trapa pode ser caracterizada atravs de um conjunto de parmetros: o pice ou crista corresponde ao ponto mais alto da trapa, o spill point representa o ponto mais baixo onde pode ser encontrado petrleo, e o fechamento, a distncia vertical entre o pice e o spill point. Uma trapa contm gua, leo e/ou gs, podendo apresentar contatos bruscos ou transicionais, e de inclinao varivel (horizontal sob condies hidrostticas, ou inclinado sob condies hidrodinmicas). As trapas podem ser classificadas como estruturais, estratigrficas, hidrodinmicas ou mistas. As trapas estruturais so aquelas cuja geometria o resultado de atividade tectnica, estando relacionadas a falhas, dobras ou dipiros. Anticlinais associados a falhas reversas ou normais constituem o tipo de trapa estrutural mais comum. As trapas estratigrficas so aquelas resultantes de variaes litolgicas, podendo ser de origem
Geologia do Petrleo
21
www.pgt.com.br
deposicional (ex: recifes, lentes de arenitos, etc) ou ps-deposicional (ex: truncamentos, barreiras diagenticas, etc). As trapas hidrodinmicas formam-se em reas onde o fluxo descendente de gua retm o petrleo sem nenhum tipo de fechamento estrutural ou barreira estratigrfica. As trapas mistas so o resultado da combinao de duas de quaisquer situaes acima. As rochas selantes ou capeadoras so as responsveis pela reteno do petrleo nas trapas. Devem apresentar baixa permeabilidade associada com alta presso capilar, de modo a impedir a migrao vertical do petrleo. Os evaporitos (especialmente a halita) so os capeadores mais eficientes, embora os folhelhos sejam os mais comuns nas acumulaes de petrleo. Os folhelhos podem nos casos em que a presso capilar no suficientemente alta, atuar como capeadores seletivos, impedindo a passagem do leo e permitindo a perda de gs da trapa. Cabe ressaltar que a capacidade selante de uma rocha dinmica. Um folhelho capeador pode, com o aumento da compactao e alguma atividade tectnica, fraturar-se e perder sua capacidade selante. Para que seja possvel a formao de uma jazida petrolfera, fundamental que a formao da trapa seja contempornea ou anteceda a gerao e migrao do petrleo.
6.2. Alterao do petrleo na trapa
A composio do petrleo que chega a trapa depende essencialmente da natureza da matria orgnica e da evoluo do processo de gerao e migrao. Esta composio, entretanto, pode ser alterada na trapa por uma srie de processo de alterao: craqueamento trmico, deasphalting e biodegradao. O craqueamento trmico conseqncia do aumento de temperatura do reservatrio devido subsidncia, mudana do gradiente geotrmico ou influncia de intruses gneas. O processo de degradao trmica do petrleo tambm pode ser descrito pelas formulaes clssicas da cintica de primeira ordem, sendo controlado pela temperatura e pelo tempo. O craqueamento resulta no aumento da proporo dos hidrocarbonetos leves s expensas dos compostos mais pesados. Sob temperaturas muito, o petrleo transformado basicamente em metano e um resduo carbonoso aromatizado (pirobetume). O processo de deasphalting consiste na precipitao dos asfaltenos causada pela dissoluo de grandes quantidades de gs e/ou hidrocarbonetos leves no petrleo
22
Geologia do Petrleo
www.pgt.com.br
acumulado. Esses hidrocarbonetos leves podem se formar na prpria acumulao, pelo efeito do craqueamento trmico, bem como resulatar de um segundo pulso de migrao secundria que atingiu o reservatrio. A biodegradao o processo de alterao do petrleo pela ao de bactrias. A biodegradao do petrleo est normalmente associada ao influxo de gua meterica no reservatrio, uma vez que as bactrias que consomem o petrleo so principalmente aerbicas, dependendo, portanto, do oxignio e nutrientes trazidos pela gua. O consumo dos hidrocarbonetos pelas bactrias seletivo, seguindo de modo geral a seguintes sequncia: alcanos normais, seguidos pelos ramificados, cclicos e, finalmente, os hidrocarbonetos aromticos. A perda preferencial dos compostos mais leves resulta no aumento da densidade e da viscosidade do leo acumulado.
6.3. Clculo de reservas e mtodos de produo
No cubagem do volume de petrleo recupervel de uma jazida deve ser levado em considerao volume do reservatrio que contm petrleo, a porosidade, a saturao de leo, o fator de recuperao e o fator volume de formao. O volume do reservatrio calculado com base em mapas estruturais e ispacos. A porosidade e a saturao de leo (frao do espao poroso ocupado pelo petrleo) so definidas com base em perfis eltricos. O fator de recuperao (percentagem do volume total do leo que pode ser produzido) estimado por analogia com reservatrios similares j em produo. O fator volume de formao usado para a converso do volume do petrleo no reservatrio para as condies de P e T na superfcie, correspondendo ao volume de leo no reservatrio para fornecer um barril de petrleo na superfcie. Esse fator pode ser estimado com base na composio do petrleo (varia de 1,08 nos leo pesados, at 2,0 nos muito leves) ou determinado com preciso atravs de anlises de PVT (presso-volume-temperatura) em laboratrio. A produo do petrleo depende da diferena de presso entre poo e reservatrio. Existem trs mecanismos naturais para o fluxo espontneo do petrleo at a superfcie: gs dissolvido, capa de gs e empuxo de gua. A presena de gs dissolvido nas mais variadas propores comum em acumulaes de petrleo. A energia do gs dissolvido liberada com a expanso decorrente da queda de presso entre o reservatrio e a superfcie. medida que o gs se expande, ele arrasta o leo ao longo do gradiente de presso. Com o avano da produo e Geologia do Petrleo
23
www.pgt.com.br
a reduo da quantidade de gs, observa-se o declnio da presso do reservatrio at a mesma alcanar a presso de saturao (bubble point). Neste ponto, o gs sai de soluo sob a forma de bolhas, podendo formar uma capa de gs (denominada de secundria) sobre o leo. Esta capa exerce pouca influncia sobre a eficincia da produo, e tende a aumentar at ocupar o espao poroso ocupado pelo leo. A eficincia da recuperao atravs deste mecanismo est em torno de 20%. A capa de gs livre, por sua vez, indica que a quantidade de gs excede a necessria para saturar o leo. A energia provm tanto gs dissolvido quanto da capa de gs comprimido na poro superior do trapa. Com o avano da produo tambm se observa o declnio da presso do reservatrio e uma expanso da capa de gs, ocupando o espao ocupado pelo leo. A eficincia da recuperao atravs deste mecanismo pode variar de 20 a 50%. O mecanismo de produo por meio do empuxo de gua ocorre nas acumulaes onde a presso transmitida pelo aqufero atravs do contato leo-gua ou gs-gua. Neste caso, a gua substitui o petrleo produzido, mantendo a presso do reservatrio. No caso do empuxo de gua no estar sendo suficiente para manter a presso, os poos podem ser fechados e a presso original ser restaurada. A eficincia da recuperao atravs deste mecanismo pode chegar a 80%. No caso de reservatrios em que a presso declina at a atmosfrica, a nica energia disponvel a da gravidade, pouco eficiente e com resultados anti-econmicos. Em alguns casos, a energia do reservatrio pode ser recuperada com a injeo de gs sob presso.
24
Geologia do Petrleo
Você também pode gostar
- Noções Gerais Do PetróleoDocumento48 páginasNoções Gerais Do PetróleoWagnerdeLagesAinda não há avaliações
- Gestão de ManutençãoDocumento196 páginasGestão de Manutençãopaulo gusmão de santanaAinda não há avaliações
- Apostila Testes de Pocos Petrobras PDFDocumento266 páginasApostila Testes de Pocos Petrobras PDFAnnaBiaAinda não há avaliações
- Noções de Geologia e ReservamentoDocumento118 páginasNoções de Geologia e ReservamentoSilvio Eduardo100% (3)
- Exploração de Petróleo e GásDocumento214 páginasExploração de Petróleo e GásEudes FilhoAinda não há avaliações
- PerfilagemDocumento89 páginasPerfilagemgeolvmAinda não há avaliações
- Geologia Do PetróleoDocumento3 páginasGeologia Do PetróleoCosta NetoAinda não há avaliações
- Aula 1 - Engenharia de CompletaçãoDocumento67 páginasAula 1 - Engenharia de CompletaçãoSheila Fabiana0% (1)
- PROCESSAMENTO DE PETRÓLEO E GÁSSlides Operação 2a AulaDocumento98 páginasPROCESSAMENTO DE PETRÓLEO E GÁSSlides Operação 2a Aulagennilucc100% (12)
- PROCESSAMENTO DE PETRÓLEO E GÁSSlides Operação 2a AulaDocumento98 páginasPROCESSAMENTO DE PETRÓLEO E GÁSSlides Operação 2a Aulagennilucc100% (12)
- Aula 01Documento90 páginasAula 01Pedro Ivo Alves FonsecaAinda não há avaliações
- Avaliação de Formações - LivroDocumento22 páginasAvaliação de Formações - LivroLucas NunesAinda não há avaliações
- O Pré-sal brasileiro e suas vertentes: da evolução geológica ao mercado internacional do petróleo. Desenvolvimento Autônomo x Dependência ExternaNo EverandO Pré-sal brasileiro e suas vertentes: da evolução geológica ao mercado internacional do petróleo. Desenvolvimento Autônomo x Dependência ExternaAinda não há avaliações
- Sondagem W. GeralDocumento41 páginasSondagem W. GeralPaulo Bunga100% (1)
- Tipos de Reservatórios de PetróleoDocumento6 páginasTipos de Reservatórios de Petróleoilsonmoura100% (2)
- Simulado ENEM - 2º Dia-1Documento23 páginasSimulado ENEM - 2º Dia-1Gabrielly NascimentoAinda não há avaliações
- Sistema PetrolíferoDocumento133 páginasSistema Petrolíferogennilucc100% (7)
- Livro Petrobras Aguas ProfundasDocumento424 páginasLivro Petrobras Aguas Profundasn0tl3Ainda não há avaliações
- O Direito e o Ouro Negro: os direitos fundamentais dos petroleiros offshore na era do pré-salNo EverandO Direito e o Ouro Negro: os direitos fundamentais dos petroleiros offshore na era do pré-salNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Módulo Iii - Noções de PerfuraçãoDocumento61 páginasMódulo Iii - Noções de Perfuraçãotroca de informações100% (28)
- Apostila Geologia Do Petroleo v2Documento94 páginasApostila Geologia Do Petroleo v2Victor Tiago StrunkisAinda não há avaliações
- Origem Do PetroleoDocumento39 páginasOrigem Do PetroleoMiriã AlmeidaAinda não há avaliações
- Curso de Geologia Do Petróleo - Ed2Documento147 páginasCurso de Geologia Do Petróleo - Ed2Michel Luan100% (1)
- Módulo Ii - Noções de GeologiaDocumento26 páginasMódulo Ii - Noções de Geologiatroca de informações100% (11)
- Apostila de Geologia 3Documento52 páginasApostila de Geologia 3DiogoAinda não há avaliações
- Aula01 Introdução ExerciciosDocumento1 páginaAula01 Introdução ExerciciosRhayanneSilvaAinda não há avaliações
- Pocos de Oleo e GasDocumento120 páginasPocos de Oleo e GasMarcelo Paiva100% (1)
- Apostila Engenharia de Petróleo - UPSTREAMDocumento43 páginasApostila Engenharia de Petróleo - UPSTREAMIgor Maia100% (1)
- Apostila Processamento GN 2010Documento77 páginasApostila Processamento GN 2010paulochemistry90100% (6)
- Engenharia de Perfuração e Completação em Poços de PetróleoDocumento48 páginasEngenharia de Perfuração e Completação em Poços de Petróleogennilucc100% (18)
- Engenharia de Perfuração e Completação em Poços de PetróleoDocumento48 páginasEngenharia de Perfuração e Completação em Poços de Petróleogennilucc100% (18)
- Caderno Geologia Do PetróleoDocumento51 páginasCaderno Geologia Do PetróleoMauricio100% (2)
- Petroleo - ReservatóriosDocumento46 páginasPetroleo - ReservatóriosLuiz Eduardo67% (3)
- Interpretação Sísmica para GeólogosDocumento97 páginasInterpretação Sísmica para GeólogosRafael Herzog Oliveira Silva100% (7)
- 6 - de GasDocumento18 páginas6 - de GasClaudia Marcia Ferreira DiasAinda não há avaliações
- Metodologia e Análise Da Viabilidade Técnica Da Conversão de Caldeiras A Óleo Combustível para Gás NaturalDocumento152 páginasMetodologia e Análise Da Viabilidade Técnica Da Conversão de Caldeiras A Óleo Combustível para Gás NaturalLuis Antonio BassoAinda não há avaliações
- Curso de PerfilesDocumento70 páginasCurso de PerfilesIsabel Jara Garcia0% (1)
- Noções de Geologia e Reservatório - IQTODocumento129 páginasNoções de Geologia e Reservatório - IQTOrodrigo cezarAinda não há avaliações
- Introdução A Perfilagem de Poços de PetróleoDocumento14 páginasIntrodução A Perfilagem de Poços de PetróleoAlzenib2011Ainda não há avaliações
- 1 - Origem Do PetroleoDocumento20 páginas1 - Origem Do PetroleoPedro GelsonAinda não há avaliações
- Exercícios - Fontes de EnergiaDocumento4 páginasExercícios - Fontes de EnergiaBruno Delvequio ZequinAinda não há avaliações
- Engenharia de Reservatorios de Petreleo Adalberto RosaDocumento951 páginasEngenharia de Reservatorios de Petreleo Adalberto RosaRichardJimenezZuritaAinda não há avaliações
- Módulo Iv - Noções de Completação e ProduçãoDocumento39 páginasMódulo Iv - Noções de Completação e Produçãotroca de informações100% (15)
- Geologia PetroleoDocumento34 páginasGeologia PetroleoIgor NarducciAinda não há avaliações
- Reservatórios de PetróleoDocumento425 páginasReservatórios de PetróleoBreno FernandesAinda não há avaliações
- Apostila Geologia PetroleoDocumento34 páginasApostila Geologia PetroleoUlissAinda não há avaliações
- Geologia Do petroleo-PGTDocumento24 páginasGeologia Do petroleo-PGTgennilucc100% (6)
- Apostila de Geologia Do Petróleo 1 2005Documento77 páginasApostila de Geologia Do Petróleo 1 2005Maryelle Silva Dos Santos50% (2)
- Trabalho SISTEMA PETROLÍFERODocumento22 páginasTrabalho SISTEMA PETROLÍFEROwhekslay100% (5)
- Cap 2 Gestão de ReservatórioDocumento47 páginasCap 2 Gestão de ReservatórioKennedy Morango Magalhães100% (1)
- Fluxo RadialDocumento25 páginasFluxo RadialHélio Testy BrownAinda não há avaliações
- Mecanismos de Producao 29 05 10Documento16 páginasMecanismos de Producao 29 05 10Berg SousaAinda não há avaliações
- Interpretação SísmicaDocumento7 páginasInterpretação SísmicaJP F. da SilvaAinda não há avaliações
- Relatório Final de Estágio AIRÃDocumento23 páginasRelatório Final de Estágio AIRÃbarbosa17Ainda não há avaliações
- Geologia Do Petroleo PDFDocumento24 páginasGeologia Do Petroleo PDFAna Cristina Meirelles Quintanilha Coelho AnaAinda não há avaliações
- Geologia Do Petroleo Geologia Do PetroleDocumento24 páginasGeologia Do Petroleo Geologia Do PetroleRemulo SousaAinda não há avaliações
- GEOLOGIA APLICADA 2012 1 - P2 Parte 1Documento39 páginasGEOLOGIA APLICADA 2012 1 - P2 Parte 1Fernanda HatikvahAinda não há avaliações
- Geoquimica OrganicaDocumento10 páginasGeoquimica OrganicaEdilson Magaia50% (2)
- Geologia Do Petróleo Sistemas PetrolíferosDocumento133 páginasGeologia Do Petróleo Sistemas PetrolíferosLuciano Kilo BarbosaAinda não há avaliações
- Trabalho Sobre Dinâmica Tecnológica Das IndústriasDocumento45 páginasTrabalho Sobre Dinâmica Tecnológica Das IndústriasMarques MaxwellAinda não há avaliações
- Propriedades Do Petróleo CruDocumento15 páginasPropriedades Do Petróleo CrujoseferraznetoAinda não há avaliações
- LubrificaçãoDocumento64 páginasLubrificaçãoGunarssonAinda não há avaliações
- Relatório Luiz - WilliansDocumento43 páginasRelatório Luiz - WilliansJairEspegoAinda não há avaliações
- Lubrificação IndustrialDocumento63 páginasLubrificação IndustrialDaiana FreitasAinda não há avaliações
- Viscosidade PetroleoDocumento49 páginasViscosidade Petroleogennilucc100% (7)
- Petrologia Da Formação Mosquito 2Documento20 páginasPetrologia Da Formação Mosquito 2gennilucc100% (1)
- Ciclo Das RochasDocumento15 páginasCiclo Das RochasgenniluccAinda não há avaliações
- Bibliogra GeologiaDocumento1 páginaBibliogra Geologiaanon-210402Ainda não há avaliações
- BolGeoCiencias Bacias AsmusDocumento36 páginasBolGeoCiencias Bacias AsmusgenniluccAinda não há avaliações
- Apostila Introdução A Instrumentação - CompletaDocumento180 páginasApostila Introdução A Instrumentação - Completapy4aqa2962Ainda não há avaliações
- Plataforma JaquetaDocumento10 páginasPlataforma JaquetaErnani MenesesAinda não há avaliações
- Aula 1 Fundamentos IFPEDocumento43 páginasAula 1 Fundamentos IFPELeonardo MacielAinda não há avaliações
- 0 - Lei 1 - 2024 Fundo SoberanoDocumento6 páginas0 - Lei 1 - 2024 Fundo SoberanoSimiao FeniasAinda não há avaliações
- Tipos de Energia: Renováveis e Não RenováveisDocumento20 páginasTipos de Energia: Renováveis e Não RenováveisPOL4RAinda não há avaliações
- Chamada Publica Baixo Carbono Petroleo PetroquimicaDocumento107 páginasChamada Publica Baixo Carbono Petroleo PetroquimicaDennis FerreiraAinda não há avaliações
- Estudo de Caso ARO Petrolíferas PDFDocumento16 páginasEstudo de Caso ARO Petrolíferas PDFLUCILENEBATISTAAinda não há avaliações
- Edificações Inteligentes Bruno - Cosso - FernandesDocumento58 páginasEdificações Inteligentes Bruno - Cosso - FernandesKarini PassosAinda não há avaliações
- PúblicaDocumento12 páginasPúblicaRenan dantasAinda não há avaliações
- 405 Soldadura OxigasDocumento22 páginas405 Soldadura OxigasVasco JardimAinda não há avaliações
- BAHIAGÁS - Nota - Técnica - Sistema - Multicamada - Projeto - e - InstalaçãoDocumento20 páginasBAHIAGÁS - Nota - Técnica - Sistema - Multicamada - Projeto - e - InstalaçãoMário PorralAinda não há avaliações
- Simulação Numérica de ReservatóriosDocumento75 páginasSimulação Numérica de ReservatóriosgermangsilvaAinda não há avaliações
- REPETRO e REPETRO SPEDDocumento14 páginasREPETRO e REPETRO SPEDBeatriz MesquitaAinda não há avaliações
- Análise Da REN Pela EmpiricusDocumento16 páginasAnálise Da REN Pela Empiricusquenome32Ainda não há avaliações
- Cassio Garcia Ribeiro Soares DaSilvaDocumento296 páginasCassio Garcia Ribeiro Soares DaSilvaaguardiano2Ainda não há avaliações
- Estudo - GERADORES DIESELDocumento19 páginasEstudo - GERADORES DIESELCarlosAinda não há avaliações
- COMBUSTIVEISDocumento2 páginasCOMBUSTIVEISLucas PontesAinda não há avaliações
- Ref BRS MFL71798841 02 230215 00 Om Web PDFDocumento56 páginasRef BRS MFL71798841 02 230215 00 Om Web PDFLays e RenatoAinda não há avaliações
- Mireme Eiti Relatorio Final PorDocumento198 páginasMireme Eiti Relatorio Final PorFelisbertoAinda não há avaliações
- IRIS-INTEGRACAO - DE - RENOVAVEIS - INTERMITENTES - PDF - INTERATIVO Aneel Synergia Planejamento OperaçãoDocumento400 páginasIRIS-INTEGRACAO - DE - RENOVAVEIS - INTERMITENTES - PDF - INTERATIVO Aneel Synergia Planejamento OperaçãoElder RiAinda não há avaliações
- Apostila LubrificacaoRev 1Documento151 páginasApostila LubrificacaoRev 1Raisa B. Lobo CarideAinda não há avaliações
- Manual Edificios Administrativos - Ministerio EducaçãoDocumento64 páginasManual Edificios Administrativos - Ministerio EducaçãoPaulo CostaAinda não há avaliações
- Petroquimica PDFDocumento13 páginasPetroquimica PDFLelecoYorkAinda não há avaliações
- Especial Energia - O PaisDocumento13 páginasEspecial Energia - O PaisNhacaAinda não há avaliações
- Aula 41corte PDFDocumento13 páginasAula 41corte PDFSaymon FelizAinda não há avaliações