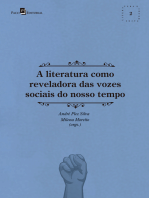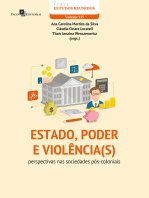Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Reflexões Sobre Biopoder E Pós-Colonialismo: Relendo Fanon E Foucault
Reflexões Sobre Biopoder E Pós-Colonialismo: Relendo Fanon E Foucault
Enviado por
Nrd Macata0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
9 visualizações15 páginasTítulo original
9644
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
9 visualizações15 páginasReflexões Sobre Biopoder E Pós-Colonialismo: Relendo Fanon E Foucault
Reflexões Sobre Biopoder E Pós-Colonialismo: Relendo Fanon E Foucault
Enviado por
Nrd MacataDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 15
GILROY, Paul. 2000.
Against Race Imagining Political Culture beyond the
Color Line. Cambridge: Harvard University Press/Belknap.
SCOTT, David. 1999. Refashioning Futures Criticism after Postcoloniality.
Princeton: Princeton University Press.
Estudos i nspi rados na obra de Franz Fanon vm ocupando espaos na
cena i ntel ectual norte-ameri cana desde o fi nal dos anos 80. De parte des-
sa l i teratura, h uma n ti da tentati va de fragmentar, mati zar e tornar mai s
compl exos jogos de pol ari dades que aparecem de manei ra di sti nta em
doi s de seus mai s conheci dos l i vros: Peau Noire, Masques Blancs (1952)
e Les Damns de la Terre (1961). No pri mei ro, uma marcada pol ari zao
entre raas envol ta em um enfoque psi canal ti co formul ada a parti r
da i mpl oso de um sujei to negro l i bertado do ol har e da fal a de um outro,
branco. Um embate de outra natureza probl emati zado em Os Conde-
nados da Terra: dessa vez o col oni zado quem, ao focal i zar as estrat-
gi as e os modos atravs dos quai s o col oni zador opera, desvenda a tei a
na qual a sua prpri a subordi nao produzi da
1
. Embora i nteressados
em focal i zar di scusses espec fi cas, Davi d Scott e Paul Gi l roy i nvestem
em uma l ei tura cr ti ca de Fanon e na possi bi l i dade de al guns de seus tex-
tos revel arem mai s do que uma j datada cr ti ca domi nao col oni al e
posi o de subordi nao de sujei tos col oni ai s, recentemente retomada
pel o debate sobre ps-col oni al i smo. Ambos os l i vros consti tuem notvei s
contri bui es, ao di scuti rem como prti cas e representaes col oni ai s
sobre corpo e poder se apresentam em si ntoni a com reavi vados di l emas
da moderni dade
2
.
Em ambos os percursos, o ol har cr ti co de Fanon para a rel ao entre
construes em torno da noo de raa , processos de subjeti vao e
outras estratgi as de poder col oni al , evocado l ado a l ado s i nterpreta-
es de Mi chel Foucaul t (1977; 1979; 1991) sobre biopoder e governa-
mentalidade. Um poss vel encontro entre esses autores tema de uma
ARTI GO BI BLI OGRFI CO
REFLEXES SOBRE BIOPODER E
PS-COLONIALISMO:
RELENDO FANON E FOUCAULT
Ol vi a Mari a Gomes da Cunha
MANA 8(1):149-163, 2002
ENSAIO BIBLIOGRFICO 150
das sees do l i vro de Scott i nti tul ada Fanon avec Foucaul t , embo-
ra em dosagens e para propsi tos di versos, mostra-se potenci al mente i ns-
pi rador. As apropri aes l acani anas de Fanon sobre a questo do sujei -
to , a quase ausnci a de um enfoque espec fi co sobre raa na di scus-
so da noo de biopoder (Sai d 1986; Stol er 1995), sem fal ar no si l nci o
de Foucaul t a respei to da di menso col oni al do poder governamental ,
consti tuem aspectos i mportantes de evi dentes desconti nui dades entre os
doi s autores. Entretanto, Scott e Gi l roy atentam para as convergnci as
em torno da central i dade das di scusses sobre corpo e poder no pensa-
mento dos doi s autores, e para as formas medi ante as quai s tai s noes
tm si do evocadas no debate contemporneo sobre ps-col oni al i smo.
nesse uni verso que governamentalidade e biopoder se apresentam como
ferramentas anal ti cas (e pol ti cas) rel evantes para a compreenso dos
modos atravs do quai s a refl exo em torno das estratgi as anti col oni ai s
vi sl umbradas por Fanon, e as narrati vas e projetos ps-col oni ai s, podem
ser retomadas
3
. Neste ensai o desejo percorrer al guns dos pontos das re-
fl exes produzi das por Scott e Gi l roy, i nspi radas nas l ei turas que ambos
fi zeram de Fanon e Foucaul t, entre el es, aquel es que di scutem as i mpl i -
caes pol ti cas da oni presena do corpo seja envol to em s mbol os cul-
turalmente diversos ou desnudo pel as l entes da bi ol ogi a genti ca ,
como um dos mai s rel evantes di l emas da moderni dade.
Narrativas de libertao e escrita da histria
Ao estudar os processos de construo da hi stri a e da cr ti ca ps-col o-
ni al na Jamai ca e no Sri Lanka, Scott anal i sa o que denomi na presente
poltico as demandas soci ai s e os contextos pol ti cos que envol veram a
produo de narrati vas posteri ores experi nci a col oni al stricto sensu.
Seu percurso por uni versos to di sti ntos pontuado pel as refl exes de
Tal al Asad e, pri nci pal mente, Edward Sai d. Scott mostra como a arti cul a-
o e a i nveno de retri cas que al udi am ao passado, cul tura e rel i -
gi o l ocal , permi ti ram que regras de enunci ao da pol ti ca e da autori -
dade col oni al fossem produzi das atravs de uma l i nguagem secul ar e
autori zada. Representao e autori dade e, pri nci pal mente, o que Sai d se
refere como formas de i rradi ao (1990:31), so i nvesti gadas na forma-
o paul ati na de um vocabul ri o e conheci mentos sobre a rel ao entre
rel i gi o e pol ti ca no Sudoeste Asi ti co. A antropol ogi a como l i nguagem
e i nstrumento de produo de um conheci mento col oni al par excellence,
consti tui no s fonte e recurso auxi l i ar dessas narrati vas, como respon-
svel pel o estabel eci mento de seus pontos de i nscri o (Sai d 1989; Asad
1979). Scott recupera concei tos com os quai s possa compreender como a
produo de saberes col oni ai s e a consti tui o de uma pol ti ca l ocal ope-
ram, se ajustam e l egi ti mam mutuamente. Ao mesmo tempo, di scute co-
mo uma i ntensa i nti mi dade entre essas duas formas de conheci mento
hi stori ca e l ocal mente produzi da. Scott ampl i a o hori zonte do debate de-
fl agrado por Sai d no l i vro Orientalismo (1990), enfati zando a di menso
pol ti ca dos di scursos que ousaram resi sti r exteri ori dade da representa-
o. no campo da pol ti ca e na formao do Estado colonial que tai s di s-
cursos esto l ocal i zados. A rel ao entre poder, conheci mento e repre-
sentao dos sujei tos col oni ai s di retamente susci tada a parti r do uso da
noo de governamentalidade (Foucaul t 1979), mas na prospeco dos
si gni fi cados atri bu dos aos projetos de reforma em contextos col oni ai s
que Scott probl emati za o que denomi na governamentalidade colonial
o surgi mento de estratgi as de governo, admi ni strao e representao
l ocai s di ri gi das popul ao.
Scott i denti fi ca as bases da consti tui o de um discurso poltico sobre
o budi smo e sua conseqente transformao em rel i gi o no Sri Lanka
quando ocorre uma desautori zao dos anti gos padres ecl esi sti cos de
poder [e] a rel i gi o organi zada ento obri gada a empregar as novas
tecnol ogi as e i nsti tui es da esfera pbl i ca para real i zar o trabal ho i deo-
l gi co da mobi l i zao rel i gi osa (:68). Tal i nvesti gao retomada mai s
adi ante, quando, ao propor uma des-hi stori zao da hi stri a , a i nfl un-
ci a de Foucaul t torna-se mai s expl ci ta. Focal i zando o processo de produ-
o do l i vro The People of the Lion, Gunawardana (1979) expe as i mpl i -
caes pol ti cas da rel ao entre a emergnci a de uma consci nci a hi st-
ri ca l ocal e o estabel eci mento de uma comuni dade naci onal no Sri Lan-
ka. Na sua i nterpretao, a hi stri a que se faz texto e no contexto
da cr ti ca ps-col oni al .
Refl exes sobre os jogos de poder que se enredam nos modos de pro-
duo da hi stri a ps-col oni al so retomadas em outro contexto, no qual
a antropol ogi a tem um papel fundamental . Um di l ogo i magi nri o tra-
vado com o hi stori ador e escri tor barbadi ano Edward Kamau Brathwai te
e as formas atravs das quai s a presena da fri ca no Cari be por el e
i nterpretada. Scott mostra a di ferena entre um projeto i ntentado pel a
antropol ogi a norte-ameri cana no Cari be a parti r dos anos 30, e outro que
se constri nos terrenos da pol ti ca cul tural e da i denti dade l ocai s: a i ma-
gi nao normati va de uma vi so pol ti ca e moral da comuni dade negra
da di spora (:109). Embora tenha real ado a semel hana entre os proje-
tos naci onal i stas si nhal a e afro-cari benho, pautados na reconstruo de
REFLEXES SOBRE BIOPODER E PS-COLONIALISMO: RELENDO FANON E FOUCAULT 151
ENSAIO BIBLIOGRFICO 152
narrati vas hi stri cas, o di l ogo travado com a prosa de Brathwai te des-
venda outras conexes. Cri ti cando uma tradi o di sci pl i nar vi da por
detectar autenti ci dade e i nd ci os de uma memri a e hi stri a afri canas
denomi nada antropol ogi a veri fi caci oni sta , Scott di sti ngue e qual i fi -
ca o projeto pol ti co de al guns autores cari benhos em torno da busca da
fri ca no Cari be (Scott 1991; Carnegi e 1996; Troui l l ot 1991). Este confor-
mari a no uma linguagem disciplinar autori zada, mas uma estratgi a e
projeto de cr ti ca cul tural . Scott observa cui dadosamente os si gni fi cados
pol ti cos que se escondem por trs do que se assemel ha a um redutor di s-
curso essenci al i sta. A noo de tradi o seri a um exempl o. Em vez do
paradi gma da essenci al i zao, evi denci ari a a compl exi dade e a natureza
mul ti forme dos projetos pol ti cos nos quai s seu uso freqente
4
. Uma
i ndagao fei ta no contexto das di scusses sobre o Sri Lanka parece aten-
der aos doi s debates. Como poder amos al terar os pressupostos atravs
dos quai s ns tradi ci onal mente pensamos [o l ugar da] a comuni dade na
hi stri a e a autori dade do passado no presente [] passados que j no
podem ser entendi dos como presenas defi ni ti vas e fi xas atravs das
quai s nossa pol ti ca de comuni dade garanti da? (:95) Uma geneal ogi a
dos di scursos de poder e autori dade que envol vem a produo de hi st-
ri as e a evocao de i denti dades localizadas di ri gi da a outros dom ni os,
mai s especi fi camente, s vi ci ssi tudes do col oni al i smo na obra de Fanon e
ao seu l ugar na produo e na cr ti ca ps-col oni al .
Embora a refl exo sobre as i njunes da histria como projeto i ns-
cri to em prti cas di sti ntas de governo colonial, bem como os seus usos no
debate sobre ps-colonialismo, aparea em vrias passagens, o Fanon que
objeto da ateno de Scott focal i zado em uma parte si ngul ar do l i vro.
Sua i nteno descrever certas formas de poder moderno que al teraram
o terreno do embate entre colonizador e colonizado (:16), que no mai s
se apl i cam s utopi as de vi ol nci a e l i bertao de um sujei to col oni al i ma-
gi nado por Fanon. Para Scott, esse projeto s poss vel se textos canni -
cos do que chama narrati vas de l i bertao forem submeti dos a uma l ei -
tura cr ti ca e, sobretudo, afi nada com os debates e di l emas que um outro
contexto ps-col oni al oferece. O que central no i magi nri o da descol o-
ni zao postul ado por Fanon no se reduz nem aos seus si gni fi cados pol -
ti cos para as l utas anti col oni ai s, nem aos usos que essas i di as ganharam
em projetos de anl i se di scursi va em pa ses i ndustri al i zados.
A descol oni zao jamai s passa despercebi da porque ati nge o ser, modi fi ca
fundamental mente o ser, transforma espectadores sobrecarregados de i nes-
senci al i dade em atores pri vi l egi ados, col hi dos de modo quase grandi oso pel a
roda-vi va da hi stri a. I ntroduz no ser um ri tmo prpri o, transmi ti do por
homens novos, uma nova l i nguagem, uma nova humani dade. A descol oni -
zao , na verdade, cri ao de homens novos. Mas esta cri ao no recebe
sua l egi ti mi dade de nenhum poder sobrenatural ; a coi sa col oni zada se faz
no processo mesmo pel o qual se l i berta (Fanon 1979:26-27).
Fanon produz uma cr ti ca radi cal da col oni zao atravs de um ol har
mi nuci oso sobre as estratgi as de vi ol nci a, subordi nao e desumani za-
o que produzem o colonizado. Como um contradi scurso, a descol oni za-
o i mpl i cari a anul ar e rei nventar um suposto sujei to col oni al na sua
verdadei ra humani dade. Para Scott, justamente essa tentati va de res-
taurar uma humani dade perdi da e anteri or experi nci a col oni al , que
col oca o texto de Fanon sob o escrut ni o de outras l ei turas. Ai nda assi m,
Scott debi ta l ei tura do l i bel o anti col oni al fanoni ano parte rel evante do
aprendi zado pol ti co que l evou sua gerao a acredi tar em projetos de
transformao soci al nos anos 70. Por esse vi s, sua compreenso dos
hori zontes pol ti cos do debate sobre ps-col oni al i smo est arti cul ada a
um subtexto. Um ol har quase memori al sti co sobre o presente poltico
jamai cano.
A Jamai ca ps-1962 o cenri o de gestao e popul ari zao de pro-
jetos pol ti cos de cunho naci onal i sta, que cul mi nam com a chegada do
soci al -democrata Mi chael Manl ey ao poder em 1976. A crescente i mpor-
tnci a de uma cul tura popul ar musi cal e danante, produzi da nos ento
persegui dos guetos de Trenchtown, transformou a ex-col ni a bri tni ca
no epi centro da produo de uma cultura da dispora negra rei nterpreta-
da e reproduzi da graas tecnol ogi a e i mi grao. Vi stas retrospecti va-
mente, essas transformaes reconduzi ram os dramas col oni ai s anteri o-
res aos anos 60 a um presente (e futuro) i nusi tado. Scott transforma a fi gu-
ra embl emti ca dos rude-boys jovens moradores dos bai rros popul ares
de Ki ngston que por vol ta dos anos 60 passam a temati zar a vi ol nci a e a
opresso raci al em l i nguagem musi cal e esti l o juveni l no personagem
central dessa recente e trgi ca hi stri a. A l i nguagem corporal dos rude-
boys, i mortal i zada no ci nema em The Harder they Come e na TV nas l e-
tras pi cantes da febre dance-hall protagoni zada por Yellow Man
5
, col oca
em rel evo as arti manhas da construo de um di scurso naci onal -popul ar
que combi na doi s di l emas consti tuti vos da moderni dade em contextos
ps-col oni ai s: al uses a um corpo l i berto de estereti pos raci al i stas para-
doxal mente revesti do de marcas cul turai s racialmentesi gni fi cati vas, com-
bi nadas popul ari zao e reafi rmao de i deai s de mascul i ni dade cons-
tru dos medi ante a vul gari zao de embl emas que o conectam sexual i -
REFLEXES SOBRE BIOPODER E PS-COLONIALISMO: RELENDO FANON E FOUCAULT 153
ENSAIO BIBLIOGRFICO 154
dade e raa . Os retratos de um rude-boy romanti zado i magi nado
como protti po de um heri revol uci onri o anti col oni al nos anos 60
so verti dos nas fi guras mascul i nas e erti cas do dance-hall. Novos per-
sonagens marcam sua si ngul ar presena no i magi nri o popul ar jamai ca-
no, i mpregnando-o de cones que i ndi sti ntamente cel ebram a reconstru-
o mascul i na e raci al i zada de um sujei to culturalmente diverso. Scott
no est sozi nho na cr ti ca fami l i ari dade dessa l i nguagem com outras
estratgi as (e i mpasses pol ti cos) consti tuti vas de um moderno bi opoder,
tal qual i magi nara Foucaul t. Segui ndo as tri l has de uma l ei tura compara-
ti va, sugi ro haver al go mai s em comum entre as i magens do rude-boy
jamai cano menci onadas por Scott e a estti ca i nspi rada em i ns gni as mi l i -
tares uti l i zada pel a juventude negra de ori gem i mi grante nas grandes
ci dades dos pa ses i ndustri al i zados, probl emati zada por Gi l roy.
Liberdade, Holocausto e Renncia
Eu soube desde cedo que cari benhos e outros sol dados ori gi nri os das
col ni as bri tni cas ti nham l utado bravamente contra o nazi smo. Eu admi -
rava e apreci ava os retratos do meu ti o e sua esposa vesti dos em uni for-
mes de guerra (:2). Lembranas atormentam as memri as do meni no e
os projetos do autor i ncomodado. Perturba-o a canti l ena i nci dental que
transforma certas concepes de semel hana e i gual dade no mago de
pol ti cas de i denti dade, estratgi as de organi zao de grupos e outras for-
mas de fraterni dade contemporneas. As i ns gni as, marcas e cones al usi -
vos Segunda Guerra Mundi al , bem como seus fantasmas total i tri os e
qui meras de i gual dade, j no mai s se l i mi tam aos seus enquadramentos
hi stri cos. Em Against Race, Paul Gi l roy encontra-os l atentes, pul santes e
chei os de vi tal i dade na averso que mani festam a formas de mi stura e
experi mentao ousadas nos anos 60 e 70. Em suas memri as expe as
contradi es e rel evos de um di scurso sobre a diferena que no conhece
territrio, ideologia, fronteira e interlocutor. Gilroy reconhece-o como par-
te de uma estti ca e de di scursos modernos que ti veram a Segunda Gran-
de Guerra como momento pri vi l egi ado de exposi o e sacral i zao.
Engana-se, porm, quem o i magi na i nformado excl usi vamente pel o
exempl o-l i mi te dos di scursos nazi -fasci stas, pel a perpl exi dade de obser-
vadores e das v ti mas do exterm ni o e do hol ocausto. Atravs de i magens
aparentemente sem si ntoni a, como por exempl o as que al udem fants-
ti ca e sobre-humana vi tal i dade do atl eta Mi chael Jordan em Space J am
e sedutora consagrao do corpo nos documentri os de Leni Ri efens-
REFLEXES SOBRE BIOPODER E PS-COLONIALISMO: RELENDO FANON E FOUCAULT 155
tahl , Gi l roy mostra-nos que sua face mai s danosa e potente a cel ebra-
o do corpo e da corporal i dade como l ugares de representao da dife-
rena ganhou outras roupagens. Os terri tri os de di ssemi nao e afi r-
mao dessa l i nguagem consti tuem o que Gi l roy, i nspi rado em Zygmunt
Bauman, chama de campos , ou seja, espaos-i di as atravs dos quai s
ci rcul am noes de pertenci mento, hi stri a e i denti dade essenci al i zadas
6
.
Essa di scusso defl agrada por uma ep grafe de Fanon sobre a si mi -
laridade entre negrofobia e anti-semitismo. Fanon recordava ento os con-
sel hos que seu professor anti l hano de fi l osofi a l he dera: sempre que voc
ouvi r al gum mal tratar um judeu, preste ateno, porque el e est fal an-
do sobre voc (Fanon 1952 apud Gi l roy 2000:1). Gi l roy faz dessa adver-
tnci a o fi o condutor de suas prpri as remi ni scnci as costuradas a outras
i magens da vi ol nci a. Seu esforo pode ser defi ni do como uma tentati va
de montar um quebra-cabea composto de memri as fami l i ares, l ei turas
do uni verso acadmi co e da m di a e refl exes sobre moral i dade e poder.
Mi nha prpri a memri a me di z que eu era uma cri ana mi l i tari sta, mas i sso
deve ter si do uma afl i o parti l hada por outros da mi nha gerao. Com cer-
teza gastei parte da mi nha i nfnci a reencenando as gl ri as da Segunda
Guerra Mundi al . [] Do mundo da mi nha i nfnci a fez parte o i ncompreen-
s vel mi stri o do genoc di o nazi sta. Como um dente dol oroso e pendente,
retornava a el e de manei ra compul si va. Este pareci a ser o mago da guerra
e seus sobrevi ventes estavam prxi mos de ns. Suas tatuagens me i ntri ga-
vam. Seus fi l hos estavam entre nossos col egas de escol a. Foram el es quem
preveni ram nossas fam l i as sem carro sobre os prazeres de di ri gi r Vol kswa-
gens []. cl aro, tambm, que al gumas fam l i as judi as abri ram suas portas
para estudantes cari benhos despejados do mercado i mobi l i ri o devi do bar-
rei ra da cor. Eu me confrontei com a descoberta de que o sofri mento del es
estava de al gum modo vi ncul ado a i di as de raa que no meu uni verso esta-
vam rel aci onadas ameaa da vi ol nci a (Gi l roy 2000:2, 4-5).
Em uma l i nguagem por vezes i ntri cada, Gi l roy busca focal i zar a tr-
gi ca semel hana entre vel has e novas formas de expresso do fasci smo e
a persi stnci a das retri cas raci ai s. Ambas (re)aparecem travesti das de
outras hi erarqui as cul turai s. M di a, msi ca, fi l mografi a e al guns di scur-
sos essenci al i stas que ci rcul am nas cenas pol ti ca e acadmi ca norte-ame-
ri cana so seus al vos predi l etos. H vi s vei s pontos de conti nui dade entre
Against Race e seus projetos anteri ores (Gi l roy 1987; 1993a; 1993b).
Entretanto, Gi l roy rompe certos i sol amentos, em parte i magens i nadver-
ti damente rei fi cadas de uma cul tura negra e transatlntica produzi das
ENSAIO BIBLIOGRFICO 156
por el e prpri o em The Black Atlantic, e di al oga com um outro contexto
de di scusses rel aci onado ao debate sobre a noo de humani dade defl a-
grada no ps-guerra e s i nterpretaes sobre o hol ocausto produzi das
por Hannah Arendt e Zygmunt Bauman (Bauman 1998; Stol cke 2002)
7
.
Gi l roy segue as prescri es do professor de Fanon, i nvesti ndo cri ti -
camente sobre o que chama fi ces de parti cul ari smo (:230). Di scur-
sos, embl emas e estti cas mi l i tari zantes, em di l ogo com estratgi as de
produo de i denti dade i nspi radas na l gi ca das fraterni dades e nos gru-
pos de parentesco. Tai s si nai s aparecem envol tos em s mbol os e metfo-
ras que al udem fora f si ca, ao corpo, mascul i ni dade e moral i dade.
Seus pri mei ros experi mentos na cena pol ti ca dos grupos negros em l uta
contra o raci smo nas Amri cas datam das pri mei ras dcadas do scul o
XX. Seu i magi nri o no exatamente si ngul ar, e em mui to se assemel ha
s formaes pol ti cas que abri garam di scursos fasci stas e naci onal i stas
na Europa. O exempl o hi stri co da UNIA, de Marcus Garvey, e suas i nu-
si tadas conexes com di scursos da supremaci a branca norte-ameri cana,
no texto de Gi l roy, transforma-se no precursor das pol ti cas contempor-
neas protagoni zadas por Loui s Farrakan e da nao do Isl . Como defi ni r
e expl i car suas proposi es de fraterni dade baseadas em i deai s de pure-
za e anti -semi ti smo sem que se reconhea sua curi osa fami l i ari dade com
outros naci onal i smos essenci al i stas? (:221) Nessas experi nci as associ ati -
vas, poss vel i denti fi car os pontos de i nscri o de uma certa noo de
humani dade ampl amente i nformada pel a reafi rmao do gnero, atravs
dos si nai s da brutal i dade e da mascul i ni dade
8
.
Justamente em contextos onde as feri das do raci smo e do col oni al i s-
mo permanecem expostas, di scursos sobre o corpo fi guram oni presentes
em narrati vas e estratgi as de representao supostamente antagni cas.
Nesse ponto, os usos de Fanon e Foucaul t nos textos de Scott e Gi l roy
assemel ham-se.
Mi nha preocupao aqui [argumenta Gi l roy] no necessari amente com a
bem conheci da hi stri a daquel as j condenadas tentati vas de produzi r cate-
gori as raci ai s coerentes, na escol ha de combi naes representati vas de cer-
tos fenti pos []. Mui to mai s i nteressante do que essa ati vi dade de produ-
o da raa, foi o que requereu a s ntese do logos com o cone. Uma raci o-
nal i dade ci ent fi ca formal com al go mai s al go vi sual e estti co , em
ambos os senti dos desses termos escorregadi os (:35).
De forma i nversa manei ra pel a qual a l i teratura sobre o tema requal i fi -
cou prti cas e di scursos em torno da crena e uti l i zao do termo raa ,
REFLEXES SOBRE BIOPODER E PS-COLONIALISMO: RELENDO FANON E FOUCAULT 157
Gi l roy no di sti ngue suas qual i dades mai s ou menos ci ent fi cas, sua di s-
semi nao mai s ou menos popul ar e seus resul tados mai s ou menos tol e-
rvei s, perversos e di ssi mul ados. O que se abri gou sob o termo raciologia
foram processos de representao de supostas di ferenas (e capaci dades)
bi ol gi cas e cul turai s do corpo. A pri mazi a do corpo nas estti cas e pol ti -
cas modernas si mul ou a substi tui o da biologia pel a cultura, quando, de
fato, cri stal i zou a pri mei ra ao al i mentar uma rel ao di fusa e suposta-
mente i nexi stente entre ambas. Essa apropri ao da noo de cultura se
transforma em uma moderna e excl usi vi sta forma de propri edade: a cul -
tura de um povo. Temos que estar al ertas para as ci rcunstnci as nas
quai s o corpo rei nvesti do do poder de arbi trar sobre o v ncul o da cul tu-
ra com os povos [] , adverte Gi l roy (:24).
O texto de Gi l roy aponta para al guns dos i mpasses susci tados por
di scursos modernos e ci enti fi ci stas sobre o corpo e as capaci dades huma-
nas. Nel es, tanto a l gi ca da raa quanto outras modal i dades de i nscri -
o cal cadas em noes de i nfra-humani dade (:54) e pureza se revel a-
ri am em cri se. A raciologia desvenci l ha-se de sua retri ca ci ent fi ca, con-
tami na a m di a e outras fal as. Revel a-se atravs da uma l i nguagem qua-
se redentora, vol tada para formas de consumo especi al mente di ri gi das a
corpos e culturas. Gi l roy mostra-se extremamente cr ti co das retri cas
mul ti cul tural i stas e anti -raci stas, justamente por permanecerem enreda-
das em um conti nuado di scurso de essenci al i zao da diferena. El e i den-
ti fi ca o v ncul o entre i magens apocal pti cas da ordem neol i beral e a
expanso de mi cropol ti cas que operam no coti di ano das popul aes e
do i ndi v duo. Ambas se mostram baseadas em pri nc pi os de di ferena e
hi erarqui as soci ai s, cul turai s e bi ol gi cas, e operam de forma a produzi r
desejos e gerar expectati vas em escal a gl obal (Troui l l ot apud Comaroff
e Comaroff 2000:298). Gi l roy no est sozi nho na rennci a e cr ti ca s
pol ti cas das di ferenas al i adas expanso do capi tal i smo. Em l ugar de
especul ar sobre a natureza espetacul ar, a real i dade espectral do capi -
tal i smo do fi m do mi l ni o, Jean Comaroff e John Comaroff (2000:292),
por exempl o, i nterrogam como sua l i nguagem se apresenta como prel e-
o sal vaci oni sta [...] um capi tal i smo que, caso expl orado correta-
mente, pode transformar i ntei ramente o uni verso dos margi nal i zados e
desapoderados . Nesse contexto, o consumo enquanto pri nc pi o e
fator que determi na concepes de val or na construo de i denti dades
(Comaroff e Comaroff 2000:294) ofuscari a os termos de um debate mai s
ampl o sobre poder. Os encantamentos do capi tal i smo mi l enari sta opera-
ri am, justamente, pel a capaci dade de combi nar sal vaci oni smo, pri nc pi os
de di ferena, prescri es l egal i stas e morai s: o i ndi v duo redi mi do dos
ENSAIO BIBLIOGRFICO 158
seus v ncul os l ocai s e real ocado sob l gi cas cl assi fi catri as regul adoras
de ordem moral gl obai s.
Gi l roy i magi na ser i mperati vo, pol i ti camente rel evante e estrategi ca-
mente possvel imaginar alguma forma de representao contrria s ret-
ri cas do biopoder. Uma das al ternati vas repousa em sua recusa em tratar
como espec fi cas l i nguagens da vi ol nci a que, mui tas vezes, se escon-
dem na tri vi al i dade do coti di ano. Prope ento um humani smo pl anet-
ri o , estratgi co, no raci al ou mesmo anti -raci al , na tentati va de bani r
tai s retri cas do hori zonte pol ti co e do debate contemporneo. Embora
sua defi ni o seja pouco cl ara em al gumas passagens do l i vro, sua opo
i mpl i ca renunci ar noo de raa como i nstrumento de categori zao
e i denti fi cao da humani dade (:17). Todavi a, preci so notar que essa
cr ti ca se di sti ngue de uma supostamente desi nteressada averso aos
essenci al i smos e defesa de um uni versal i smo i ngnuo. Gi l roy mostra-se
cti co aos apel os humani stas herdei ros do Il umi ni smo, responsvei s jus-
tamente por outorgar aos di scursos raci al i stas uma crescente vi tal i dade.
Um poss vel di l ogo com Scott susci tado pel o i nteresse de ambos
em aprofundar a compreenso dos termos e da natureza da l i berdade
outorgada/conqui stada pel as popul aes de ori gem afri cana nas Amri -
cas e os espaos que essas experi nci as ocuparam no i magi nri o moder-
no. Ambos comparam os usos atri bu dos noo de l i berdade em soci e-
dades ps-escravi stas, com os si gni fi cados atri bu dos aos corpos dos no-
vos ci dados l i bertos de seus estatutos formai s de subordi nao. Vi stos
de uma perspecti va contempornea, parte rel evante dos debates pol ti -
cos sobre a experi nci a da l i berdade parece ter se esgotado. Essa pros-
peco parti l hada pel os doi s autores ao recorrerem di scusso sobre a
rel ao entre l i beral i smo e raci smo susci tada pel o hi stori ador Thomas
Hol t no fi nal dos anos 80
9
. Os i deai s de l i berdade e suas apropri aes por
parte de popul aes recm-sa das de di ferentes formas de escravi do no
scul o XIX, consti tuem um exempl o dramti co de como i deai s humani s-
tas foram reapropri ados e rei nterpretados em projetos de reforma que
defl agraram novas modal i dades de governo e subjeti vi dade no i magi n-
ri o moderno. A bel a di gresso de Gi l roy sobre os paradoxos dos i deai s de
l i berdade oferece-nos uma passagem i nteressante para aquel e que seri a
um momento posteri or. O advento do corpo ao qual essa experi nci a de
l i berdade al ude, torna presente uma poss vel l i nguagem e forma de
representao: [...] o desejo de l i berdade, que por tanto tempo foi o cen-
tro do i magi nri o negro pol ti co moderno, tem que parar e refl eti r seri a-
mente quando confrontado por questes decepci onantemente si mpl es.
Li berdade para qu ? Li berdade para conqui star o qu? (:208).
REFLEXES SOBRE BIOPODER E PS-COLONIALISMO: RELENDO FANON E FOUCAULT 159
Por fi m, tanto Gi l roy quanto Scott percebem os l i mi tes hi stri cos e
pol ti cos que tornam tanto a extenso do uso da categori a foucaul ti ana
de biopoder quanto as di scusses sobre epi dermal i zao
10
e col oni al i s-
mo propostas por Fanon, pl enamente apl i cvei s aos contextos sobre os
quai s ambos refl etem (Gi l roy 2000:44-45). H al go mui to mai s i ntenso,
aparentemente banal , coti di anamente perverso no processo hi stri co que
cul mi nou na transformao de povos marcados pel o exoti smo e subordi -
nao, em i ndi v duos para os quai s uma certa noo de humani dade vem
sendo excl usi vamente al udi da e corpori fi cada atravs de retri cas da
pureza, fora f si ca, mascul i ni dade e da di versi dade cul tural . justamen-
te nos l ugares onde as premi ssas l i berai s i gual i tri as parecem anul ar as
categori as e as cl assi fi caes baseadas em hi erarqui as bi ol gi cas, que
suas marcas nem sempre suti s cl amam por outras l i nguagens e formas de
uti l i zao.
Recebi do em 22 de outubro de 2001
Aprovado em 9 de feverei ro de 2002
Ol vi a Mari a Gomes da Cunha doutora em Antropol ogi a Soci al pel o
PPGAS-MN-UFRJ e professora do Departamento de Antropol ogi a Cul tural
(UFRJ). autora de I nteno e Gesto Pessoa, Cor e a Produo Cotidiana
da (I n)Diferena no Rio de J aneiro, 1927-1942 (no prel o).
ENSAIO BIBLIOGRFICO 160
Notas
1
Traduo de Les Damns de la Terre (1979). O mapeamento da literatura so-
bre Fanon no objeto deste ensaio. Chamo a ateno para alguns debates emble-
mticos produzidos nesse contexto, como por exemplo, os textos organizados por Alan
Reed (1996) e as i ntervenes de Vergs (1997), Gates Jr. (1991) e Robi nson (1993).
2
O soci l ogo i ngl s Paul Gi l roy foi , junto com Stuart Hal l , um dos i ntegran-
tes do Center for Cul tural Studi es (Uni versi ty of Bi rmi ngham), responsvel por
pesqui sas sobre juventude, m di a e pol ti ca na Ingl aterra nos anos 70 e 80. au-
tor, entre outros escri tos, do semi nal The Black Atlantic Modernity and Double
Consciousness (1993a). O antropl ogo jamai cano Davi d Scott autor de Forma-
tions of Ritual: Colonial and Anthropological Discourses on Sinhala Yaktovil
(1994), um estudo sobre a formao da comuni dade i ntel ectual sinhala no Sri Lan-
ka. Tem publ i cado vri os arti gos sobre naci onal i smo e cul tura popul ar na Jamai ca
e edi tor do jornal Small Axe (1997-).
3
H um i ntenso debate nesse campo, no qual os usos e a cr ti ca ao marxi s-
mo como ferramenta e model o de anl i se para o estudo dos contextos col oni ai s
tm fi gurado como tema central . Como este ensai o no pretende percorrer as
vri as tri l has dessas di scusses, l i mi tei -me a col ocar em rel evo aspectos rel ati vos
presena de Fanon e Foucaul t nos l i vros de Scott e Gi l roy. Para um panorama
cr ti co mai s geral sobre os usos e abusos do termo e das anl i ses empreendi das
sobre ps-col oni al i smo ver, entre outros, Coroni l (1992), Di rl i k (1994), Wi l l i ams e
Chri sman (1994), Prakash (1994) e Rajan (1997).
4
A descri o e i nterpretao do debate dos i ntel ectuai s creolistas na Mar-
ti ni ca e nas Anti l has Francesas produzi das por Ri chard Pri ce e Sal l y Pri ce (1997)
e Mi chel -Rol ph Troui l l ot (1998) so excel entes contrapontos ao contexto evocado
por antropl ogos jamai canos como o prpri o Davi d Scott e Charl es Val Carnegi e
(1996). O papel e o l ugar da histria na antropol ogi a norte-ameri cana sobre o
Cari be foram probl emati zados em outro texto de Scott (1991) e resul tou em uma
resposta de Ri chard Pri ce (2001).
5
Fi l me produzi do e di ri gi do por Perry Henzel l nos anos 70, protagoni zado
por Ji mmy Cl i ff. O dance-hall mai s um dos esti l os musi cai s h bri dos jamai canos,
caracteri zado pel o seu acento r tmi co e l etras pi cantes e o cantor Yellow Man um
de seus precursores. Para mui tos cr ti cos e defensores das l etras pol i ti zadas e i ns-
pi radas na temti ca rastafari da gerao do reggae dos anos 80, resul tou na com-
pl eta comerci al i zao e descaracteri zao do esti l o.
6
A di ferena dos t tul os das edi es ameri cana e i ngl esa (Between Camps:
Nations, Cultures, and the Allure of Race, 2000) expressa a preocupao do autor
para com o recebi mento de suas i di as pol mi cas tanto no contexto europeu quan-
to norte-ameri cano.
REFLEXES SOBRE BIOPODER E PS-COLONIALISMO: RELENDO FANON E FOUCAULT 161
7
O uso da noo de tradi o no contexto da dispora negra evocado
di ferentemente por Gi l roy e por Scott (:118-127). Uma i nspi radora resenha cr ti ca
de Brackette Wi l l i ams (1995) sobre o embl emti co Black Atlantic col oca em outros
termos a i di a de tradi o susci tada pel o texto de Gi l roy.
8
Essa di scusso acresci da de uma i conografi a contundente no ensai o i nti -
tul ado Bl ack Faci sm (Gi l roy 2000a).
9
Gi l roy i nspi ra-se cl aramente nas refl exes sobre l i beral i smo e transi o da
escravi do para o capi tal i smo produzi das por Thomas Hol t (1995) e Uday Mehta
(1997). Essa di scusso retrabal hada de forma i nsti gante na recente col etnea de
Rebecca Scott, Thomas Hol t e Frederi ck Cooper (2000).
10
Termo cunhado por Fanon (1952). Segundo a apreenso de Gi l roy, um
si stema hi stori camente espec fi co de tornar corpos expressi vos, dotando-l hes com
qual i dades da cor [] [e que] sugere um regi me percepti vo no qual o corpo raci a-
l i zado confi nado e protegi do pel a sua pel e protetora (:46).
Referncias bibliogrficas
ASAD, Tal al . 1979. Anthropol ogy and
the Anal ysi s of I deol ogy . Man, 4:
607-627.
BAUMAN, Zygmunt. 1998 [1989]. Moder-
nidade e Holocausto. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar Editor.
CARNEGIE, Charles V. 1996. The Dun-
dus and the Nati on . Cultural An-
thropology, 4:470-509.
COMAROFF, Jean e COMAROFF, John.
2000. Mi l l eni al Capi tal i sm: Fi rst
Thoughts on a Second Comi ng .
Public Culture, 12:291-343.
CORONIL, F. 1992. Can Postcol oni al i ty
Be Decol oni zed? I mperi al Banal i ty
and Postcolonial Power . Public Cul-
ture, 5:99-111.
DIRLIK, A. 1994. The Postcolonial Aura:
Thi rd Worl d Cri ti ci sm i n the Age of
Global Capitalism . Critical Inquiry,
20(2):328-356.
FANON, Franz. 1971 [1952]. Peau Noire,
Masques Blancs. Pari s: di ti ons du
Seuil.
___
. 1979. Os Condenados da Terra.
Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira.
FOUCAULT, Mi chel . 1977. Histria da
Sexualidade. Rio de Janeiro: Graal.
___
. 1979. Microfsica do Poder. Rio de
Janeiro: Graal.
___
. 1991. Faire Vivre et Laisser Mou-
ri r: La Nai ssance du Raci sm . Le
Temps Modernes, 46(535):37-61.
GATES JR., Henry Louis. 1991. Critical
Fanoni sm . Critical I nquiry, 17(3):
451-465.
GILROY, Paul. 1987. There Aint No Black
in the Union J ack The Cultural
Politics of Race and Nation. Chicago:
The University of Chicago Press.
ENSAIO BIBLIOGRFICO 162
___
. 1993a. The Black Atlantic Mo-
dernity and Double Consciousness.
London: Verso.
___
. 1993b. Small Acts Thoughts on
the Politics of Black Cultures. London:
Serpent Tail.
___
. 2000a. Black Facism . Transition,
81/82:70-91.
GUNAWARDANA, R. A. L. H. 1979. The
People of the Lion: The Sinhala Iden-
tity and Ideology in History and His-
tori ography . Sri Lanka J ournal of
the Humanities, 5(1/2):1-36.
HOLT, Thomas C. 1995. Marking: Race,
Race-Mak i ng, and the Wri ti ng of
Hi story . The American Historical
Review, 1:1-20.
MEHTA, Uday. 1997. The Essential Am-
biguities of Race and Racism . Polit-
ical and Social Theory, 11:235-246.
PRAKASH, Gyan. 1994. Subaltern Stud-
i es as Postcol oni al Cri ti ci sm . The
American Historical Review, 5:1475-
1490.
PRI CE, Ri chard. 2001. The Mi racl e of
Creolization: A Retrospective . New
West Indian Guide, 75:35-64.
___
e PRICE, Sal l y. 1997. Shadowbox-
i ng i n the Mangrove . Cultural An-
thropology, 1:8-36.
RAJAN, R. S. 1997. The Thi rd Worl d
Academi c i n Other Pl aces; or, the
Postcol oni al Revi si ted . Critical I n-
quiry, 23(3):596-616.
REED, Alan (ed.). 1996. The Fact of Black-
ness: Franz Fanon and Visual Rep-
resentation. Seatle: Bay Press.
ROBINSON, Cedri c. 1993. The Appro-
pri ati on of Franz Fanon . Race and
Class, 1:79-91.
SAID, E. W. 1986. Foucault and the Imag-
i nati on of Power . I n: D. C. Hoy
(org.), Foucault: A Critical Reader.
New York: Backwell. pp. 149-156.
___
. 1989. Representi ng the Col o-
nized: Anthropologys Interlocutors .
Critical Inquiry, 15(2):205-225.
___
. 1990. Orientalismo O Oriente
como I nveno do Ocidente. So
Paulo: Companhia das Letras.
SCOTT, Davi d. 1991. That Event, thi s
Memory: Notes on the Anthropol o-
gy of Afri can Di asporas i n the New
World . Diasporas, 3:261-284.
___
. 1994. Formations of Ritual: Colo-
nial and Anthropological Discourses
on Sinhala Yaktovil. Mi neapol i s:
University of Minnesota Press.
SCOTT, Rebecca, HOLT, Thomas C. e
COOPER, Frederi ck . 2000. Beyond
Slavery. Chapel Hill: North Carolina
University Press.
STOLCKE, Verena. 2002. Pl ural i zar o
Universal: Guerra e Paz na Obra de
Hannah Arendt . Mana, 8(1):93-112.
STOLER, Ann Laura. 1995. Race and the
Education of Desire: Foucaults His-
tory of Sexuality and the Colonial
Order of Things. Durham, Duke Uni-
versity Press.
TROUILLOT, Mi chel -Rol ph. 1991. An-
thropol ogy as Metaphor: The Sav-
ages Legacy and the Postmodern
Worl d . In: R. Fox (org.), Recaptur-
ing Anthropology: Working in the
Present. Santa Fe: School of Ameri -
can Research Press. pp. 17-44.
___
. 1998. Culture on the Edges: Cre-
olization in the Plantation Context .
Plantation Society in the Americas,
1:8-28.
VERGS, F. 1997. Creol e Sk i n, Bl ack
Mask: Fanon and Disavowal . Criti-
cal Inquiry, 23(3):578-595.
WILLIAMS, Brackette. 1995. Bl ack At-
l anti c Revi ew . Social I dentities,
1:175-192.
WI LLI AMS, P. e CHRI SMAN, L. 1994.
Col oni al Di scourse and Post-Col o-
ni al Theory: An I ntroducti on . I n:
Colonial Discourse and Post-Colo-
nial Theory: A Reader. New York :
Columbia University Press. pp. 1-20.
REFLEXES SOBRE BIOPODER E PS-COLONIALISMO: RELENDO FANON E FOUCAULT 163
Resumo
Autores como Mi chel Foucaul t e Franz
Fanon tm fi gurado de forma i nfl uente
tanto em estudos sobre questes rel ati -
vas a estratgias de poder e representa-
o em contextos ps-col oni ai s, quanto
em debates e anlises de ordem terica
sobre ps-colonialismo. Particularmente,
as noes de biopoder e governamenta-
lidade, ori gi nri as do pensamento de
Foucault, e as reflexes de Fanon sobre
a construo de formas de subjetivao
raci al i zadas e col oni ai s, tm ensejado
um amplo debate sobre a permanncia e
ci rcul ao de retri cas raci ai s transna-
ci onai s. Atravs da l ei tura de Davi d
Scott, em Refashioning Futures Criti-
cism after Postcoloniality (1999), e Paul
Gi l roy, em Against Race I magining
Political Culture beyond the Color Line
(2000), este ensaio procura identificar a
pertinncia da combinao de ambos os
autores em estudos que, de forma di s-
tinta, se debruam sobre a complexa re-
lao entre corpo e modernidade e suas
impl i caes nos campos pol ti co e i nte-
lectual contemporneos.
Palavras-chave Ps-Col oni al i smo, Cul -
tura, Racialismo, Poder
Abstract
Authors such as Mi chel Foucaul t and
Franz Fanon have been i nfl uenti al fi g-
ures both i n studi es of questi ons rel at-
ing to strategies of power and represen-
tati on i n post-col oni al contexts, and i n
the theoreti cal debates and anal yses
surrounding post-colonialism. In partic-
ul ar, the noti ons of bio-power and gov-
ernmentality, ori gi nal l y found i n Fou-
caul ts thought, and Fanons refl ecti ons
on the constructi on of forms of raci al
and col oni al subjecti fi cati on, have en-
abled a wide debate on the permanence
and ci rcul ati on of transnati onal raci al
rhetori cs. Through a readi ng of Davi d
Scotts Refashioning Futures Criticism
after postcoloniality (1999), and Paul
Gi l roys Against Race I magining Pol-
itical Culture Beyond the Color Line
(2000), thi s essay seeks to i denti fy the
perti nence of combi ni ng both authors
in studies that, in different ways, rely on
the complex relationship between body
and moderni ty and i ts i mpl i cati ons i n
the present-day political and intellectu-
al fields.
Key words Post-Col oni al i sm, Cul ture,
Racism, Power
Você também pode gostar
- Interpretação Nacional e Forma Literária em Quarup, de Antônio CalladoDocumento19 páginasInterpretação Nacional e Forma Literária em Quarup, de Antônio CalladoprdchagasAinda não há avaliações
- A Formação Das AlmasDocumento5 páginasA Formação Das AlmasPaulo R G ToledoAinda não há avaliações
- Teoria e Crítica Pós-Colonialista - BonniciDocumento61 páginasTeoria e Crítica Pós-Colonialista - BonniciWilma Avelino de Carvalho100% (1)
- Artigo Lucia Zolin Genero e RepresentaçãoDocumento14 páginasArtigo Lucia Zolin Genero e RepresentaçãoJéssica TolentinoAinda não há avaliações
- ZOLIN, Lúcia Osana - Questões de Gênero e de Representação Na ContemporaneidadeDocumento14 páginasZOLIN, Lúcia Osana - Questões de Gênero e de Representação Na ContemporaneidadeJurema Silva AraújoAinda não há avaliações
- A Historia Da Lit Tem Genero - Rita SchmidtDocumento11 páginasA Historia Da Lit Tem Genero - Rita SchmidtRenataAinda não há avaliações
- Formações IdentitariasDocumento8 páginasFormações IdentitariasLuísa GomesAinda não há avaliações
- Cinema e Sexualidade - IdentidadesDocumento18 páginasCinema e Sexualidade - IdentidadesLAURA SILVA OLIVEIRAAinda não há avaliações
- XG ZBSPVMP FD RT VX 48 T ZdybbDocumento14 páginasXG ZBSPVMP FD RT VX 48 T ZdybbVanda RamalhoAinda não há avaliações
- Blackness Identidades, Racismo e Masculinidades em Bell HooksDocumento12 páginasBlackness Identidades, Racismo e Masculinidades em Bell HooksViviane A. Suzy PistacheAinda não há avaliações
- ABDALA, Fichamento - Margens - Da - Cultura - MesticageDocumento4 páginasABDALA, Fichamento - Margens - Da - Cultura - MesticagecamilaAinda não há avaliações
- Descolonialidades Por Luciano NogueiraDocumento12 páginasDescolonialidades Por Luciano NogueiraBruno De Orleans Bragança ReisAinda não há avaliações
- Em Defesa Da Honra (Resenha)Documento9 páginasEm Defesa Da Honra (Resenha)Vanderlei de SouzaAinda não há avaliações
- A Categoria Política Quilombola Na Encruzilhada. Um Olhar Possível Do Encontro Beatriz Do Nascimento e Lélia Gonzalez. Débora Menezes AlcântaraDocumento13 páginasA Categoria Política Quilombola Na Encruzilhada. Um Olhar Possível Do Encontro Beatriz Do Nascimento e Lélia Gonzalez. Débora Menezes AlcântaraGiselle dos Anjos SantosAinda não há avaliações
- Mcotinguiba, 3 - Geralda IrisDocumento14 páginasMcotinguiba, 3 - Geralda IrisHadassa FreireAinda não há avaliações
- Literatura e Engajamento Nas Margens Enoch Carneiro Um Estudo de CasoDocumento11 páginasLiteratura e Engajamento Nas Margens Enoch Carneiro Um Estudo de CasoMarcos AraújoAinda não há avaliações
- Resenha Formação Das AlmasDocumento8 páginasResenha Formação Das AlmasLeonardo PereiraAinda não há avaliações
- Gnoseologias Do Sul: Poder, Saber, Ser em Ponciá VicêncioDocumento15 páginasGnoseologias Do Sul: Poder, Saber, Ser em Ponciá VicêncioMaiane Pires TigreAinda não há avaliações
- As Palvras Por Trás Das RuínasDocumento5 páginasAs Palvras Por Trás Das RuínasPriscila S. de Sá SantosAinda não há avaliações
- Shilliam (2011) - GrifadoDocumento19 páginasShilliam (2011) - GrifadoLuiz Gustavo de Oliveira AlvesAinda não há avaliações
- O Novo Romance HistóricoDocumento12 páginasO Novo Romance HistóricoFábio Nadson Bezerra MascarenhasAinda não há avaliações
- Saberes Situados, Feminismo e Pós-ColonialidadeDocumento9 páginasSaberes Situados, Feminismo e Pós-ColonialidadeLarissa PelucioAinda não há avaliações
- Articulo Sobre Rivera CusicanquiDocumento14 páginasArticulo Sobre Rivera CusicanquiGisett LaraAinda não há avaliações
- A Fabricação Do Imortal - ResenhaDocumento28 páginasA Fabricação Do Imortal - ResenhaHauley ValimAinda não há avaliações
- A Construção de Personagens Femininas em Vozes Num Divertimento, de Luci CollinDocumento11 páginasA Construção de Personagens Femininas em Vozes Num Divertimento, de Luci CollinCláudio ZarcoAinda não há avaliações
- MARCONI, Igor - Memória e Movimentos SociaisDocumento15 páginasMARCONI, Igor - Memória e Movimentos Sociaisigormarconi66hotmail.comAinda não há avaliações
- Boa Ventura e Paulo FreireDocumento30 páginasBoa Ventura e Paulo FreireCarlos WeinerAinda não há avaliações
- 1 PBDocumento16 páginas1 PBLucas MacielAinda não há avaliações
- Moliveira,+EPSULv5n2 11 AR-7 WalshDocumento14 páginasMoliveira,+EPSULv5n2 11 AR-7 WalshJosé Luís Silva CostaAinda não há avaliações
- Antropologia e Crítica Pós-ColonialDocumento27 páginasAntropologia e Crítica Pós-ColonialDaniel BorgesAinda não há avaliações
- Territórios Cruzados: Relações Entre Cânone Literário e Literatura Negra E/ou Afro-BrasileiraDocumento24 páginasTerritórios Cruzados: Relações Entre Cânone Literário e Literatura Negra E/ou Afro-BrasileiraDébora MaresAinda não há avaliações
- Ficha de Leitura Antropologia - StolerDocumento20 páginasFicha de Leitura Antropologia - StolerCarlota MirandaAinda não há avaliações
- Grande Sertao Veredas e Formacao BrasileDocumento28 páginasGrande Sertao Veredas e Formacao BrasileGleidston AlisAinda não há avaliações
- 1429 3694 1 PBDocumento27 páginas1429 3694 1 PBBenitz de Lima SouzaAinda não há avaliações
- O Pensamento Social Brasileiro e As Raízes Da Violência Como Categoria de Análise PolíticaDocumento6 páginasO Pensamento Social Brasileiro e As Raízes Da Violência Como Categoria de Análise PolíticaNilson FilhoAinda não há avaliações
- Corpas, Danielle - Grande Sertão - Veredas e Formação BrasileiraDocumento28 páginasCorpas, Danielle - Grande Sertão - Veredas e Formação BrasileiraAryanna OliveiraAinda não há avaliações
- Teoria e Crítica Pós-Colonialistas - Bonnici - FichamentoDocumento9 páginasTeoria e Crítica Pós-Colonialistas - Bonnici - Fichamentocostalarissa11Ainda não há avaliações
- Gandhi, Leela. 1998. Postcolonial TheoryDocumento11 páginasGandhi, Leela. 1998. Postcolonial TheoryThays RodriguesAinda não há avaliações
- Sobre Saberes DecoloniaisDocumento10 páginasSobre Saberes DecoloniaisEduardo Rodrigo Almeida AmorimAinda não há avaliações
- 06-Artigo 5Documento18 páginas06-Artigo 5Thamyres Mendes CarvalhoAinda não há avaliações
- Resenha Populismo y Transformación Del Imaginario Político em América LatinaDocumento4 páginasResenha Populismo y Transformación Del Imaginario Político em América LatinaLuiz Gustavo de Oliveira AlvesAinda não há avaliações
- A História Das Relações de Gênero PDFDocumento3 páginasA História Das Relações de Gênero PDFRafael Sampaio MafraAinda não há avaliações
- E4 AnidDocumento44 páginasE4 AnidMaria SanttosAinda não há avaliações
- Fichamento A Revolucao Burguesa No BrasiDocumento3 páginasFichamento A Revolucao Burguesa No BrasiCarlos MassiniAinda não há avaliações
- Entre Grinaldas e Buquês - Revista Letras e IdeiasDocumento15 páginasEntre Grinaldas e Buquês - Revista Letras e IdeiasJurema Silva AraújoAinda não há avaliações
- O Jornalismo Na Construção Simbólica Da Nação - Contestado - Karina WoitowiczDocumento28 páginasO Jornalismo Na Construção Simbólica Da Nação - Contestado - Karina WoitowiczJulia Glaciela da Silva OliveiraAinda não há avaliações
- Sobre RaçasDocumento3 páginasSobre RaçasIsabel ChrysostomoAinda não há avaliações
- A Colonialidade Do Saber Perspectivas Decoloniais - Reis 2022Documento12 páginasA Colonialidade Do Saber Perspectivas Decoloniais - Reis 2022Ademar Castelo BrancoAinda não há avaliações
- DARRIBA, Paula. Flávio de Carvalho - O Corpo em ExperiênciaDocumento5 páginasDARRIBA, Paula. Flávio de Carvalho - O Corpo em ExperiênciaMaíraFernandesdeMeloAinda não há avaliações
- As Personagens de ClariceDocumento18 páginasAs Personagens de ClariceGabriela RoseAinda não há avaliações
- COLONIALIDADE E DIVERSIDADE HUMANA Relexões Sobre A Subalternização de Gêneros, Sexualidades e RaçasDocumento4 páginasCOLONIALIDADE E DIVERSIDADE HUMANA Relexões Sobre A Subalternização de Gêneros, Sexualidades e RaçasJu FlorAinda não há avaliações
- História Do Ceará II - Erick AraújoDocumento25 páginasHistória Do Ceará II - Erick AraújoLuiza Rios100% (1)
- Resenha Do Livro Política e Identidade Cultural Na América LatinaDocumento7 páginasResenha Do Livro Política e Identidade Cultural Na América LatinafabricioAinda não há avaliações
- Teorias Póscoloniais e Decoloniais para Repensar A Sociologia Da ModernidadeDocumento10 páginasTeorias Póscoloniais e Decoloniais para Repensar A Sociologia Da ModernidadeAlex MendesAinda não há avaliações
- Jogos Vorazes e A Literatura ComparativistaDocumento6 páginasJogos Vorazes e A Literatura ComparativistaJorgeLuciodeCamposAinda não há avaliações
- Transição democrática, engajamento intelectual e reformas políticas: Luiz Werneck Vianna e os anos 1990No EverandTransição democrática, engajamento intelectual e reformas políticas: Luiz Werneck Vianna e os anos 1990Ainda não há avaliações
- A literatura como reveladora das vozes sociais do nosso tempoNo EverandA literatura como reveladora das vozes sociais do nosso tempoAinda não há avaliações
- Estado, poder e violência(s): perspectivas nas sociedades pós-coloniaisNo EverandEstado, poder e violência(s): perspectivas nas sociedades pós-coloniaisAinda não há avaliações
- Memória, corpo e cidade: voguing como resistência pós-modernaNo EverandMemória, corpo e cidade: voguing como resistência pós-modernaAinda não há avaliações