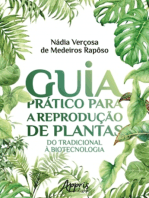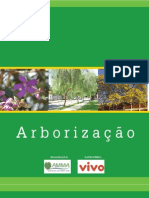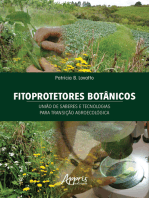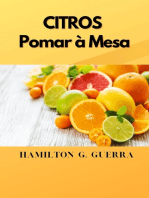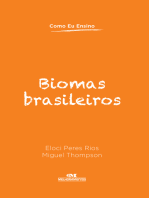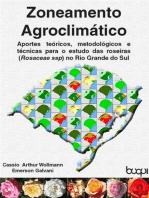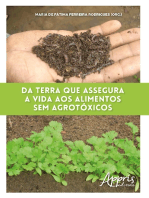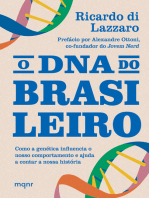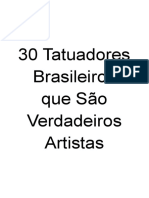Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Mata Atlantica Uma Rede Pela Floresta
Mata Atlantica Uma Rede Pela Floresta
Enviado por
Diego BragançaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Mata Atlantica Uma Rede Pela Floresta
Mata Atlantica Uma Rede Pela Floresta
Enviado por
Diego BragançaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Mata
Rede Mata Atlntica - RMA
SCLN 210 Bloco C Salas 207 e 208
CEP 70862-530 Braslia DF
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
U
m
a
r
e
d
e
p
e
l
a
o
r
e
s
t
a
Fundao Biblioteca Nacional
Atlntica
Uma rede pela oresta
Mata Front.indd 1 2/23/06 11:33:51 PM
Mata Front.indd 2 2/23/06 11:33:58 PM
Mata
Atlntica
Uma rede pela foresta
Organizao e edio
Maura Campanili e Miriam Prochnow
2006
Mata Front.indd 3 2/23/06 11:34:07 PM
Catalogao na Fonte do Departamento Nacional do Livro
Mata Atlntica uma rede pela foresta
Organizadores Maura Campanili e Miriam Prochnow
Braslia: RMA, 2006
332p.: il.; 30cm
ISBN: 85-99824-01-5
1.Mata Atlntica. 2. Florestas Tropicais Conservao I.
Campanili, Maura II. Prochnow, Miriam
CDD: 333.7
Expediente
Mata Atlntica Uma rede pela foresta
Rede de ONGs da Mata Atlntica maro de 2006
Organizao e Edio:
Maura Campanili e Miriam Prochnow
Textos:
Heloisa Ribeiro, Maura Campanili, Miriam
Prochnow e Wigold Schffer
Fotos:
Miriam Prochnow e Wigold Schffer
Colaboradores:
Textos Adlio A. V. de Miranda, Alessandro
de Paula, Alexandre Krob, Alexandre de M.
M. Pereira, Andr Lima, Andr Rocha Ferretti,
Antonio C. P. Soler, Betsey Whitaker Neal,
Bruno Machado Leo, Csar Righetti, Clvis
Ricardo Schrappe Borges, Denise Maral
Rambaldi, Djalma Weffort, Glucia Moreira
Drummond, Jean-Franois Timmers, Joo de
Deus Medeiros, Juliana Vamerlati Santos, Jlio
Francisco Blumetti Fao, Ivan Salzo, Kathia
Vasconcellos Monteiro, Kenia Valena Correia,
Lizaldo Vieira dos Santos, Lisiane Becker,
Luis Fernando Stumpf, Marcelo Tabarelli,
Maria das Dores de V. C. Melo, Maria Jos
dos Santos, Marli Custdio de Abreu, Milson
dos Anjos Batista, Nely Blauth, Osvaldo C. de
Lira, Renato Pgas Paes da Cunha, Ricardo
Miranda de Britez, Rogrio Mongelos, Silvia
Franz Marcuzzo, Tadeu Santos, Yasmine
Antonini.
Fotos Arquivo Apremavi, Arquivo CPRH,
Bruno Maciel, Fernando Pinto, Gabriela
Schffer, Gerson Buss, Leonardo B. Ventorin,
Luiz Szczerbowski, Marcos Burchaisen,
Marcos S Corra, Nelson Wendel, Paulo
Vasconcelos Jnior, Peter Mix, Rudolf
Hausmann, Vivian Ribeiro Maria, Zig Koch
Projeto Grfco:
Ana Cristina Silveira
Editorao:
Globaltec Produes Grfcas Ltda.
Reviso:
Joo de Deus Medeiros, Eliana Jorge Leite
Fonte Mapa dos Remanescentes Floresta de
Mata Atlntica, pg. 37
Fonte: Remanescentes do Rio Grande do Sul Bahia:
Atlas da Evoluo dos Remanescentes Florestais e
Ecossistemas Associados do Domnio da Mata Atlntica
no perodo 1990-95, Fundao SOS Mata Atlntica,
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
Remanescentes do Nordeste.
Conservation International, Fundao Biodiversitas e
Sociedade Nordestina de Ecologia dados organizados
para o Workshop Prioridades para Conservao da
Biodiversidade da Mata Atlntica do Nordeste, 1993.
Obs: Mapeamento correspondente aos Estados do
Cear, Rio Grande do Norte, Paraba, Pernambuco,
Alagoas e Sergipe.
Agradecemos aos autores de textos e
fotografas, gentilmente cedidos, o que
tornou este livro uma realidade, e tambm
s seguintes pessoas: Alessandro Menezes,
Armin Deitenbach, Elci Camargo, Enrique
Svirsky, Maria Ceclia Wey de Brito e Pedro
Graa Aranha
Este livro foi viabilizado com recursos
do Projeto Apoio Institucional da RMA,
fnanciado pelo PPG7, atravs do Banco
Mundial.
Mata Front.indd 4 2/23/06 11:34:17 PM
Este livro dedicado a todas as pessoas que nas mais
diversas pocas lutaram e lutam, resistiram e resistem,
trabalharam e trabalham, mas acima de tudo amaram e
amam a Mata Atlntica e a vida.
Mata Front.indd 5 2/23/06 11:34:28 PM
Mata Front.indd 6 2/23/06 11:34:37 PM
Mata Front.indd 7 2/23/06 11:34:46 PM
Rede de ONGs da Mata Atlntica
Coordenao Geral:
Miriam Prochnow (Associao de Preservao do Meio Ambiente do Alto
Vale do Itaja - Apremavi/SC)
Coordenao Institucional:
Kludio Cffani Nunes (Instituto Ambiental Vidgua/SP)
Coordenao Nacional:
titulares - Ncleo Amigos da Terra Brasil-NAT/RS; Associao de Proteo
ao Meio Ambiente de Cianorte-Apromac/PR; Associao Serras midas do
Estado do Ceria-Assuma/CE; Grupo Ambientalista da
Bahia-Gamb-BA; Movimento Popular Ecolgico-Mopec-SE; Os Verdes
Movimento de Ecologia Social/RJ; Programa da Terra-Proter/SP; suplentes
- Associao Ecolgica Canela-Assecan/RS; Centro de Estudos e
Pesquisas para o Desenvolvimento do Extremos Sul da
Bahia-Cepedes-BA; Ecologia e Ao-Ecoa/MS; Grupo de Estudos de
Sirnios, Cetceos e Quelnios-Gescq/PE; Instituto de Pesquisa da Mata
Atlntica-Ipema/ES; Instituto Sul Mineiro de Estudos e Conservao da
Natureza-ISM/MG; Associao Projeto Roda Viva/RJ; Sociedade Terra
Viva-STVBrasil/RN; Instituto Indigenista e de Estudos Socioambientais
Terra Mater/PR.
Conselho Fiscal:
Titulares - Sociedade Nordestina de Ecologia-SNE/PE; Associao de
Defesa do Rio Paran, Afuentes e Mata Ciliar- Apoena/SP; Projeto
Mira-Serra/RS; Suplentes - SOS Natureza/PI; Associao Mineira de
Defesa do Ambiente/MG; Associao Catarinense de Preservao da
Natureza-Acaprena/SC.
Equipe:
Ana Carolina Lamy (assessora institucional); Bruno de Amorim Maciel
(secretrio executivo); Carlos Henrique Sobral (assistente administrativo);
Eliana Jorge Leite (assessora administrativa e fnanceira); Slvia Franz
Marcuzzo (assessora de comunicao); Alice Watson
(estagiria de jornalismo).
SCLN 210 - Bloco C - Salas 207/8, CEP 70862-530, Braslia, DF.
61-3349 9162
Site: www.rma.org.br
Mata Front.indd 8 2/23/06 11:34:47 PM
Apresentao
V
iver na Mata Atlntica ao mesmo
tempo um privilgio e uma grande
responsabilidade. Privilgio por-
que, apesar de todo o processo de destruio,
nela ainda reside uma das maiores riquezas em
biodiversidade do mundo, sem falar em toda sua
beleza. Responsabilidade porque precisamos ser
extremamente cuidadosos com os preciosos rema-
nescentes e tambm dobrar nossos esforos para
recuperar o que necessrio para podermos garan-
tir no s a sobrevivncia do bioma, mas tambm
a qualidade de vida dos que nela habitam.
O livro Mata Atlntica Uma rede pela fo-
resta pretende mostrar um pouco da diversidade
que existe neste bioma. No s biolgica, da fauna
e fora, mas tambm das populaes, das cidades,
dos diferentes setores, das opinies. Essa diversida-
de est traduzida no s na variedade dos assuntos,
mas tambm na forma e estilos livres que foram
utilizados na elaborao dos textos, respeitando
desta forma a diversidade existente dentro da
prpria Rede de ONGs da Mata Atlntica.
A publicao mostra a grandiosidade do
bioma, um pouco de sua riqueza, o seu processo
de destruio, a necessidade de conservao, um
pouco da sua histria e da legislao que a protege.
Passa pelos 17 Estados onde a Mata Atlntica est
presente, falando um pouco da realidade em cada
um deles e mostrando atravs de imagens as coisas
importantes que ainda precisam de proteo.
Fala das ameaas atuais que rondam a foresta
e sua integridade e contra as quais necessria
uma grande unio de foras. Ao mesmo tempo
mostra algumas iniciativas positivas dos vrios
setores: cientistas, empresas, governos e ONGs,
cada vez mais empenhados em contribuir com a
proteo e recuperao do bioma.
So detalhados tambm alguns conceitos
importantes sobre reas protegidas e processos
utilizados para promover o uso sustentvel dos
recursos naturais. Apresenta um cadastro das
instituies fliadas Rede de ONGs da Mata
Atlntica, para ser consultado e servir de subsdio
para possveis parcerias em prol da foresta.
Uma rede pela foresta quer mais do que
tudo chamar a ateno para a necessidade urgente
de se proteger e recuperar a Mata Atlntica, um
Patrimnio Nacional que precisa estar sob o olhar
cuidadoso de todos os brasileiros.
Miriam Prochnow
Coordenadora Geral da RMA
Mata Front.indd 9 2/23/06 11:34:47 PM
Mata Front.indd 10 2/23/06 11:34:53 PM
Mata Front.indd 11 2/23/06 11:35:00 PM
Introduo ..............................................................................................15
Uma exploso de vida ...........................................................................17
Fitofsionomias ...................................................................................................20
Flora .....................................................................................................................23
Fauna ...................................................................................................................25
Populao ...........................................................................................................26
gua .....................................................................................................................28
Os ciclos da destruio ........................................................................31
Os estados da Mata Atlntica ...............................................................37
Rio Grande do Sul ..............................................................................................39
Santa Catarina ....................................................................................................45
Paran ..................................................................................................................58
So Paulo ............................................................................................................77
Rio de Janeiro .....................................................................................................87
Minas Gerais .................................................................................................... 107
Esprito Santo ...................................................................................................114
Bahia ................................................................................................................. 129
Mato Grosso do Sul ......................................................................................... 142
Gois ................................................................................................................. 146
Nordeste ........................................................................................................... 149
Piau .................................................................................................................. 152
Cear ................................................................................................................. 154
Rio Grande do Norte........................................................................................ 158
Paraba .............................................................................................................. 160
Pernambuco e Alagoas: O Pacto Murici ........................................................ 162
Sergipe ............................................................................................................. 165
Um bioma sem Lei?.............................................................................171
A luta pela Preservao ......................................................................177
Sumrio
Mata Front.indd 12 2/23/06 11:35:34 PM
A voz coletiva da Mata ........................................................................185
O que ainda ameaa ............................................................................197
Especulao imobiliria .................................................................................. 199
Manejo de espcies ameaadas ..................................................................... 201
Explorao madeireira .................................................................................... 205
Assentamentos rurais ...................................................................................... 209
Fumicultura e agricultura insustentvel .........................................................211
Grandes empreendimentos ............................................................................ 215
Plantio de exticas ........................................................................................... 219
Minerao .......................................................................................................... 221
Sobreposies entre unidades de conservao e populaes tradicionais 224
Trfco de animais ............................................................................................ 226
Carcinicultura ................................................................................................... 227
Oportunidade e experincias .............................................................235
Cincia .............................................................................................................. 236
Governos .......................................................................................................... 242
Iniciativa privada .............................................................................................. 249
Organizaes No-Governamentais .............................................................. 258
Reserva da Biosfera da Mata Atlntica .......................................................... 274
Saiba identifcar ...................................................................................277
reas protegidas .............................................................................................. 278
Estgios sucessionais ..................................................................................... 284
Manejo sustentvel .......................................................................................... 285
ONGs da Rede .....................................................................................289
Bibliografa ...........................................................................................312
Mata Front.indd 13 2/23/06 11:35:49 PM
Mata Front.indd 14 2/23/06 11:35:56 PM
15
I
n
t
r
o
d
u
o
Desde que o homem se viu impelido a bus-
car novos territrios alm das savanas abertas,
a foresta se constituiu em novo desafo sua
sobrevivncia. Fruto de uma histria evolutiva
desvinculada da foresta, o homem precisou
manej-la, j que era mais rpido transformar
a foresta do que aguardar um distante e incerto
processo de co-evoluo homem-foresta, o que
de fato nunca ocorreu. Ao dominar o fogo, a
inteligncia humana se rende ao imediatismo,
procurando ento recriar suas pequenas sava-
nas, as clareiras nas forestas. Um pouco mais
tarde essa mesma inteligncia tambm criou
o machado, e as savanas foram se ampliando
mundo afora.
Avanando para o norte gelado, a neces-
sidade vital de calor cria uma nova condio
propcia ao manejo da foresta: retirar dela o
lenho que alimenta as chamas da sobrevivncia.
E o homem sobreviveu e evoluiu. As forestas
se mostravam ora como obstculo, gerando
temeridade e pavor, ora como objeto de certa
valia ao pragmatismo utilitarista.
No imaginrio humano, a foresta sem-
pre se mostrou como local escuro, perigoso,
desconhecido, desafador. Crescemos enquanto
civilizao, deliberadamente, distanciados da
foresta. Nossos ncleos de convivncia, desde
os primeiros tempos eram ambientes construdos,
desnaturalizados. Por certo a complexidade da
foresta, inviabilizando a sensao de domnio e
controle, to essenciais ao animal humano, foi
uma determinante importante nesse processo
de intolerncia. Destruir a foresta era essencial
para o desenvolvimento das sociedades humanas
e, mais tarde, com a estabilidade dos primeiros
povoamentos, sinnimo tambm de posse e do-
mnio da terra. O avano tecnolgico propiciou
oportunidades novas, encorajando o homem a
avanar a passos largos sobre o territrio selva-
Introduo
gem, desbravando-o. Bravos eram os pioneiros
que enfrentavam a floresta. Esse modelo de
manejo sequer pode se associar explorao de
recursos naturais, j que pouco ou quase nada era
aproveitado. O objetivo maior era abrir espao
para a civilizao. A civilidade no se compati-
biliza com a foresta, dualismo quase perenizado
no paradoxo da evoluo humana.
Florestas tropicais
A natural inabilidade humana com as
florestas fez com que as reas de florestas
tropicais se mantivessem quase intactas at
passado recente. Historicamente se observa
um paralelo entre grandes civilizaes e reas
abertas e, mais recentemente, com reas de
forestas temperadas, estruturalmente menos
complexas, portanto mais fceis de manejar.
A histria nos mostra tambm que o ciclo de
crescimento e declnio de todas as ditas grandes
civilizaes associa-se diretamente ao esgota-
mento dos recursos naturais por elas explorados
de forma predatria. A histria trata dos feitos,
ambies e frustraes humanas, a natureza, se
muito, se insere na histria como cenrio. As
forestas tropicais no fugiram a essa regra na
sua convivncia com os humanos. Mesmo na
Amrica do Sul, o ltimo rinco a ser invadido
pelo homem, como relata Warren Dean, os que
tombaram ainda jazem insepultos e os vencedo-
res ainda vagueiam por toda parte, saqueando
e incendiando o entulho. Mais uma vez a
histria da foresta um relato de explorao
e destruio.
No contexto das forestas tropicais, a Mata
Atlntica um exemplo da efcincia destruido-
ra da espcie humana. H cerca de 65 milhes de
anos, as angiospermas, que dominam as fores-
tas tropicais, chegaram ao dossel e, nos ltimos
Mata Intro.indd 15 2/23/06 11:31:05 PM
16
I
n
t
r
o
d
u
o
50 milhes de anos, a diversifcada teia de vida
da Mata Atlntica tem evoludo sem a presso
de grandes transtornos geolgicos. Contudo, a
chegada do homem s plancies sul-americanas
h cerca de 13 mil anos inicia um processo de
interferncia sem precedentes, mais devastador
do que as prprias catstrofes geolgicas. Um
dos resultados mais imediatos, aventa-se, foi
a onda de extino da megafauna. Na seqn-
cia, avana o homem sobre a foresta, criando
distrbios que, de certa forma, se diluam na
efervescncia de formas de vida e na magnf-
ca favorabilidade das condies desse ltimo
perodo interglacial. Isso ajudou a construir o
mito do bom selvagem. Essa condio mais
uma vez abruptamente rompida com uma nova
leva de colonizadores. Aportando suas naus
numa costa ampla e exuberante, o colonizador
europeu logo colocou a desservio da foresta
toda a sua tecnologia. A efcincia foi tamanha
que em cinco sculos manejando a Mata
Atlntica, com o providencial apoio da meta-
lurgia, o invasor europeu conseguiu subverter
a lgica natural e, num ambiente com todos
os requisitos necessrios para a exuberncia,
reduziu tudo a paisagem e a espao.
Joo de Deus Medeiros botnico do Depar-
tamento de Botnica (CCB-UFSC) e do Grupo
Pau-Campeche
Noroeste catarinense 1928
Mata Intro.indd 16 2/23/06 11:31:07 PM
17
U
m
a
e
x
p
l
o
s
o
d
e
v
i
d
a
Uma exploso de
vida
Mata Cap1.indd 17 2/23/06 10:35:05 PM
18
U
m
a
e
x
p
l
o
s
o
d
e
v
i
d
a
Q
uando os primeiros euro-
peus chegaram ao Brasil,
em 1500, a Mata Atlntica
cobria 15% do territrio brasileiro,
rea equivalente a 1.306.421 Km
2
.
Distribuda ao longo da costa atlntica,
a Mata Atlntica composta por um
conjunto de ecossistemas, que incluem
as faixas litorneas do Atlntico, com
seus manguezais e restingas, forestas
de baixada e de encosta da Serra do
Mar, forestas interioranas, as matas
de araucrias e os campos de altitu-
de. Nas regies sul e sudeste chega a
atingir a Argentina e o Paraguai. Sua
regio de ocorrncia original abrangia
integralmente ou parcialmente atuais
17 estados brasileiros: Alagoas, Bahia,
Cear, Esprito Santo, Gois, Minas
Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraba,
Pernambuco, Piau, Paran, Rio de Janei-
ro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, Sergipe e So Paulo.
Atualmente, a Mata Atlntica est reduzida a
7,8% de sua rea original, com cerca de 102.000
Km
2
preservados. o segundo bioma mais amea-
ado de extino do mundo, perdendo apenas para
as quase extintas forestas da ilha de Madagascar
na costa da frica.
Mesmo reduzida e muito fragmentada, a
Mata Atlntica ainda abriga mais de 20 mil es-
pcies de plantas, das quais 8 mil so endmicas,
ou seja, espcies que no existem em nenhum
outro lugar do Planeta. a foresta mais rica do
mundo em diversidade de rvores. No sul da
Bahia, foram identifcadas 454 espcies distintas
em um s hectare.
Comparada com a Floresta Amaznica, a
Mata Atlntica apresenta, proporcionalmente,
maior diversidade biolgica. Estima-se que no
bioma existam 1,6 milho de espcies de animais,
incluindo os insetos. No caso dos mamferos,
por exemplo, esto catalogadas 261 espcies,
das quais 73 so endmicas, contra 353 espcies
catalogadas na Amaznia, apesar desta ser quatro
vezes maior do que a rea original da Mata Atln-
tica. Existem 620 espcies de aves, das quais 181
so endmicas, os anfbios somam 280 espcies,
sendo 253 endmicas, enquanto os rpteis somam
200 espcies, das quais 60 so endmicas.
Aproximadamente 120 milhes de pessoas
vivem na rea de domnio da Mata Atlntica. A
qualidade de vida destes quase 70% da populao
brasileira depende da preservao dos rema-
nescentes, os quais mantm nascentes e fontes,
regulando o fuxo dos mananciais dgua que
abastecem as cidades e comunidades do interior,
ajudam a regular o clima, a temperatura, a umi-
dade, as chuvas, asseguram a fertilidade do solo
e protegem escarpas e encostas de morros.
Monte Crista regio de Joinville SC
Mata Cap1.indd 18 2/23/06 10:35:07 PM
19
U
m
a
e
x
p
l
o
s
o
d
e
v
i
d
a
Hotspot de biodiversidade
A situao crtica da Mata Atlntica fez
com que a organizao no-governamental
Conservao Internacional (CI) inclusse o
bioma entre os cinco primeiros colocados na
lista de Hotspots, que identifca 25 biorregies
selecionadas em todo o mundo, consideradas
as mais ricas em biodiversidade e, ao mesmo
tempo, as mais ameaadas. Na escolha de
um Hotspot, considera-se que a biodiversi-
dade no est uniformemente distribuda ao
redor do planeta, ou seja, 60% das plantas e
animais esto concentrados em apenas 1,4%
da superfcie terrestre. No Brasil, alm da
Mata Atlntica, tambm o Cerrado foi includo
na relao da CI.
A existncia de espcies endmicas,
aquelas que so restritas a um ecossiste-
ma especfco e, por conseqncia, mais
vulnerveis extino, o principal critrio
utilizado para escolher um Hotspot. Alm
disso, consideram-se os biomas onde mais
de 75% da vegetao original j tenha sido
destruda. Alguns desses biomas possuem
menos de 8% de remanescentes em relao
sua rea original, como o caso da Mata
Atlntica. Mesmo assim, o bioma contribui
muito para que o Brasil seja o campeo em
megadiversidade do mundo, ou seja, com
maior quantidade de espcies de plantas e
animais em relao a qualquer outro pas.
Segundo a Conservao Internacional,
a Mata Atlntica tem tambm diversas es-
pcies bandeira, que simbolizam a regio
e podem ser utilizadas em campanhas de
conscientizao da sociedade para a pro-
teo e conservao do bioma. Dentre as
espcies mais conhecidas esto o mico-leo-
dourado, o mico-leo-da-cara-dourada, o
mico-leo-preto e o mico-leo-da-cara-preta
(gnero Leontopithecus) e duas espcies de
muriquis (gnero Brachyteles), maior macaco
das Amricas e tambm o maior mamfero
endmico do Brasil. Essas espcies tm
ajudado a populao do Brasil e do mundo a
valorizar e a proteger a foresta. Os muriquis
sobrevivem hoje em alguns remanescentes
de Mata Atlntica nos estados da Bahia, Es-
prito Santo, Minas Gerais e So Paulo e suas
populaes no passam de 2.000 animais.
Micos-lees-dourados
Flor do
pau-brasil
F
o
t
o
:
R
u
d
o
l
f
H
a
u
s
m
a
n
n
Mata Cap1.indd 19 2/23/06 10:35:23 PM
20
U
m
a
e
x
p
l
o
s
o
d
e
v
i
d
a
Fitofsionomia
Apesar de originalmente formar uma foresta
contnua, at recentemente existiam diferentes de-
nominaes para a Mata Atlntica. Essas denomi-
naes eram baseadas em diversos pesquisadores
que agrupavam as formaes forestais de acordo
com seus prprios critrios de consideraes fto-
fsionmicas e forsticas. Quando a Constituio
Federal de 1988 conferiu Mata Atlntica o status
de Patrimnio Nacional, a defnio de quais reas
fazem parte do bioma passou a ser preponderante
para a poltica de conservao.
Para tanto, um seminrio com pesquisadores
e especialistas nos diferentes ecossistemas do
bioma, organizado em 1990, pela Fundao SOS
Mata Atlntica, alm de critrios ftofsionmi-
cos, considerou os processos ecolgicos entre os
diversos ecossistemas, tais como a relao entre
a restinga e a mata, o trnsito de animais, o fuxo
de genes de plantas e animais e as reas de tenso
ecolgica (onde os ecossistemas se encontram e
vo gradativamente se transformando).
tambm da Mata Atlntica a rvore que
deu origem ao nome do Pas, o pau-brasil
(Caesalpinia echinata). Explorado ao extremo
para uso como corante e construo de na-
vios, o pau-brasil praticamente desapareceu
das matas nativas. Estima-se que cerca de
70 milhes de exemplares tenham sido envia-
dos para a Europa. A Mata Atlntica ainda
rica em muitas outras espcies de rvores
nobres e de porte imponente e mpar, como
as canelas, o cedro, o jequitib, a imbuia e o
pinheiro brasileiro (araucria).
pau-brasil, espcie que deu
origem ao nome do pas
Constatou-se que o bioma era muito maior do
que se pensava, pois at ento se considerava Mata
Atlntica apenas a foresta ombrfla densa. Como
resultado do encontro, foi defnido o conceito
de Domnio da Mata Atlntica para as reas que
originalmente formavam uma cobertura forestal
contnua. Aps algumas reformulaes, essa de-
fnio foi reconhecida legalmente pelo Conselho
Nacional do Meio Ambiente (Conama), em 1992
e pelo decreto presidencial n 750 de 1993.
Alm de sua grande extenso territorial,
outros fatores geogrfcos, como a variao de
altitudes, as diferenas de solo e formas de relevo,
entre outros, proporcionam cenrios extrema-
mente variados Mata Atlntica. Por isso, seu
domnio constitudo por diversas formaes,
tais como forestas ombrfla densa, ombrfla
mista, ombrfla aberta, estacional semidecidual,
estacional decidual, campos de altitude, alm
de ecossistemas associados, como manguezais,
restingas e brejos interioranos. Diversas ilhas
ocenicas tambm se agregam ao Domnio da
Mata Atlntica.
Mata Cap1.indd 20 2/23/06 10:35:36 PM
21
U
m
a
e
x
p
l
o
s
o
d
e
v
i
d
a
Floresta ombrfla densa - Mata pereniflia
(sempre verde), com dossel (teto da foresta) de
at 15 m, com rvores emergentes de at 40 m de
altura. Densa vegetao arbustiva, composta por sa-
mambaias arborescentes, bromlias e palmeiras. As
trepadeiras e epftas (bromlias, orqudeas), cac-
tos e samambaias tambm so muito abundantes.
Nas reas mais midas, s vezes temporariamente
encharcadas, antes da degradao pelo homem
ocorriam fgueiras, jerivs e palmitos (Euterpe
edulis). Estende-se do Cear ao Rio Grande do Sul,
localizada principalmente nas encostas da Serra do
Mar, da Serra Geral e em ilhas situadas no litoral
entre os estados do Paran e do Rio de Janeiro.
Floresta ombrfla mista - Conhecida como
Mata de Araucria, pois o pinheiro-do-paran
(Araucaria angustifolia) constitui o andar superior
da foresta, com sub-bosque bastante denso. Antes
da interferncia antrpica, essa formao ocorria
nas regies de clima subtropical, principalmente
nos planaltos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina
e Paran, e em macios descontnuos, nas partes
mais elevadas de So Paulo, Rio de Janeiro e Sul
de Minas Gerais (Serras de Paranapiacaba, da
Mantiqueira e da Bocaina).
Floresta ombrfla aberta - considerada
um tipo de transio da foresta ombrfla densa,
ocorrendo em ambientes com caractersticas cli-
mticas mais secas. encontrada, por exemplo,
na Bahia, Esprito Santo e Alagoas.
Floresta estacional (decidual e semideci-
dual) - Mata com rvores de 25 a 30 m, com a
presena de espcies decduas (derrubam folhas
durante o inverno, mais frio e seco), com consi-
dervel ocorrncia de epftas e samambaias nos
locais mais midos e grande quantidade de cips
(trepadeiras). Ocorriam, antes da degradao pelo
homem, a oeste das forestas ombrflas da encosta
atlntica, entrando pelo Planalto Brasileiro at as
margens do Rio Paran. O Parque Estadual do
Morro do Diabo e o Parque Nacional do Iguau
protegem esse tipo de foresta.
Floresta
ombrfla
densa no sul
da Bahia
Floresta ombrfla mista na estao escolgica
da Mata Preta SC
Floresta
estacional
no Parque
Nacional do
Iguau PR
Floresta
ombrfla
aberta BA
Mata Cap1.indd 21 2/23/06 10:36:47 PM
22
U
m
a
e
x
p
l
o
s
o
d
e
v
i
d
a
Brejos interioranos So reas de clima
diferenciado no interior do semi-rido, tambm
conhecidas regionalmente como serras midas,
por ocuparem primitivamente a maior parte dos
tabuleiros e das encostas orientais do Nordeste.
Campos de altitude - Ocorrem em elevaes
superiores a 1.800 metros e em linhas de cumea-
das localizadas. A vegetao caracterstica for-
mada por comunidades de gramneas, em certos
lugares interrompidas por pequenas charnecas.
Freqentemente nas maiores altitudes ocorrem
topos planos ou picos rochosos, como no Parque
Nacional de Itatiaia (localizado entre Rio de Ja-
neiro, So Paulo e Minas Gerais).
Manguezais - Formao que ocorre ao longo
dos esturios, em funo da gua salobra produ-
zida pelo encontro da gua doce dos rios com a
do mar. uma vegetao muito caracterstica,
pois tem apenas sete espcies de rvores menos
de 1% das registradas na Mata Atlntica , mas
abriga uma diversidade de microalgas pelo menos
dez vezes maior. Essa foresta invisvel, revelam
pesquisadores da Universidade Federal Rural de
Pernambuco (UFRPE), capaz de ocupar, com
cerca de 200 mil representantes, um nico cent-
metro quadrado de raiz de mangue.
Serras
midas em
Guaramiranga
CE
Restinga - Ocupa grandes extenses do
litoral, sobre dunas e plancies costeiras. Inicia-
se junto praia, com gramneas e vegetao
rasteira, e torna-se gradativamente mais variada
e desenvolvida medida que avana para o in-
terior, podendo tambm apresentar brejos com
densa vegetao aqutica. Abriga muitos cactos,
orqudeas e bromlias. Essa formao encontra-se
hoje muito devastada pela urbanizao.
Manguezais da regio de Itacar BA
Campos
de altitude
no Parque
Nacional de
So Joaquim
SC
Restinga
no Parque
Estadual
Paulo Csar
Vinhas ES
Mata Cap1.indd 22 2/23/06 10:37:55 PM
23
U
m
a
e
x
p
l
o
s
o
d
e
v
i
d
a
Flora
O conjunto de ftofsionomias que forma a
Mata Atlntica propiciou uma signifcativa diver-
sifcao ambiental, criando as condies adequa-
das para a evoluo de um complexo bitico de
natureza vegetal e animal altamente rico. por
este motivo que a Mata Atlntica considerada
atualmente como um dos biomas mais ricos em
termos de diversidade biolgica do Planeta.
No h dados precisos sobre a diversidade
total de plantas da Mata Atlntica, contudo con-
siderando-se apenas o grupo das angiospermas
(vegetais que apresentam suas sementes prote-
gidas dentro de frutos), acredita-se que o Brasil
possua entre 55.000 e 60.000 espcies, ou seja,
de 22% a 24% do total que se estima existir no
mundo. Desse total, as projees so de que a
Mata Atlntica possua cerca de 20.000 espcies,
ou seja, entre 33% e 36% das existentes no Pas.
Para se ter uma idia da grandeza desses nmeros,
basta compar-los s estimativas de diversidade
de angiospermas de alguns continentes: 17.000
espcies na Amrica do Norte, 12.500 na Europa
e entre 40.000 e 45.000 na frica.
Apenas em So Paulo, estado que possua
cerca de 80% de seu territrio originalmente
ocupado por Mata Atlntica, estima-se existirem
9.000 espcies de fanergamas (plantas com
sementes, incluindo as gimnospermas e angios-
permas), 16% do total existente no Pas e cerca
de 3,6% do que se estima existir em todo o mun-
do. No caso das pteridftas (plantas vasculares
sem sementes como samambaias e avencas), as
estimativas apontam para uma diversidade entre
800 e 950 espcies, que corresponde a 73% do
que existe no Brasil e 8% do mundo.
O Museu de Biologia Mello Leito publicou,
em 1997, estudos desenvolvidos na Universidade
Federal do Esprito Santo e da Universidade de
So Paulo, dizendo que na Estao Biolgica de
Santa Luzia, municpio de Santa Teresa (ES),
foram identifcadas 443 espcies arbreas em
uma rea de 1,02 hectare de foresta ombrfla
densa. Na seqncia, estudos realizados no Parque
Estadual da Serra do Conduru, no Sul da Bahia,
elevaram este nmero para 454 espcies de rvo-
res por hectare (Jardim Botnico de Nova Iorque
e CEPLAC). Estas descobertas superam o recorde
de 300 espcies por hectare registrado na Amaz-
nia Peruana em 1986 e podem signifcar que de
fato a Mata Atlntica possui a maior diversidade
de rvores do mundo.
Vale ressaltar que das plantas vasculares co-
nhecidas da Mata Atlntica 50% so endmicas,
ou seja, no ocorrem em nenhum outro lugar
no planeta. O endemismo se acentua quando as
espcies da fora so divididas em grupos, che-
gando a ndices de 53,5% para rvores, 64% para
palmeiras e 74,4% para bromlias.
Bromlia
Orqudeas de restinga
Mata Cap1.indd 23 2/23/06 10:38:20 PM
24
U
m
a
e
x
p
l
o
s
o
d
e
v
i
d
a
Muitas dessas espcies endmicas so frutas
conhecidas, como o caso da jabuticaba, que cres-
ce grudada ao tronco e aos galhos da jabuticabeira
(Myrciaria truncifora), da seu nome iapoti-kaba,
que signifca frutas em boto em tupi. Outras
frutas tpicas da Mata Atlntica so a goiaba, o
ara, a pitanga, o caju e as menos conhecidas
cambuci, cambuc, cabeludinha e uvaia. Outra
espcie endmica do bioma a erva mate, mat-
ria-prima do chimarro, bebida bastante popular
na regio Sul.
Muitas dessas espcies, porm, esto
ameaadas de extino. Comeando pelo pau-
brasil, espcie cujo nome batizou o Pas, vrias
espcies foram consumidas exausto ou sim-
plesmente eliminadas para limpar terreno para
culturas e criao de gado. Atualmente, alm do
desmatamento, outros fatores concorrem para o
desaparecimento de espcies vegetais, como o
comrcio ilegal. Um exemplo o palmito juara
(Euterpe edulis), espcie tpica da Mata Atlntica,
cuja explorao intensa a partir da dcada de 1970
quase levou extino. Apesar da retirada sem a
realizao e aprovao de plano de manejo ser
proibida por lei, a explorao clandestina continua
forte no Pas. O mesmo vem acontecendo com o
pinheiro-do-paran ou araucria (Araucaria an-
gustifolia), espcie que chegou a responder por
mais de 40% das rvores existentes na foresta
ombrfla mista, hoje reduzida a 1% de sua rea
original. Orqudeas e bromlias tambm so extra-
das para serem vendidas e utilizadas em decora-
o. Plantas medicinais so retiradas sem qualquer
critrio de garantia de sustentabilidade.
Em um bioma onde as espcies esto muito
entrelaadas em uma rede complexa de interde-
pendncia, o desaparecimento de uma planta ou
animal compromete as condies de vida de vrias
outras espcies. Um exemplo o jatob (Hyme-
naea courbarail). A disperso de suas sementes
depende que seu fruto seja consumido por roe-
dores mdios e grandes capazes de romper a sua
casca. Como as populaes desses roedores esto
diminuindo muito, os frutos apodrecem no cho
sem permitir a germinao das sementes. Com
isso, j so raros os indivduos jovens da espcie.
medida que os adultos forem morrendo, faltar
alimento para os morcegos, que se alimentam do
nctar das fores de jatob.
Fruto e semente do baguau
Pau dalho centenrio Maranguape CE
Mata Cap1.indd 24 2/23/06 10:38:33 PM
25
U
m
a
e
x
p
l
o
s
o
d
e
v
i
d
a
Fauna
Dentro da riqussima fauna existente na
Mata Atlntica, algumas espcies possuem ampla
distribuio, podendo ser encontradas em outras
regies, como so os casos da ona-pintada,
ona-parda, gatos-do-mato, anta, cateto, queixa-
da, alguns papagaios, corujas, gavies e muitos
outros. O que mais impressiona, no entanto, a
enorme quantidade de espcies endmicas, ou
seja, que no podem ser encontradas em nenhum
outro lugar do Planeta. o caso das 73 espcies de
mamferos, entre elas 21 espcies e subespcies de
primatas. No total, a Mata Atlntica abriga quase
mil espcies de aves, 370 espcies de anfbios,
200 de rpteis, 270 de mamferos e cerca de 350
espcies de peixes.
Mas essa grande biodiversidade no faz com
que a situao deixe de ser extremamente grave.
A lista das espcies ameaadas de extino, pu-
blicada pelo Ibama em 1989, j trazia dados im-
pressionantes: Das 202 espcies de animais con-
sideradas ofcialmente ameaadas de extino no
Brasil, 171 eram da Mata Atlntica. A nova lista,
publicada pelo Ministrio do Meio Ambiente em
maio de 2003, traz dados ainda mais alarmantes:
o total de espcies ameaadas, incluindo peixes
e invertebrados aquticos, subiu para 633, sendo
que sete constam como extintas na natureza.
Segundo levantamento
da Conservao Interna-
cional, a maior parte das
espcies da nova lista pu-
blicada pelo Ministrio do
Meio Ambiente habita a
Mata Atlntica. Do total de
265 espcies de vertebra-
dos ameaados, 185 ocor-
rem nesse bioma (69,8%),
sendo 100 (37,7%) deles
endmicos. Das 160 aves da
relao, 118 (73,7%) ocorrem nesse bioma, sendo
49 endmicas. Entre os anfbios, as 16 espcies
indicadas como ameaadas so consideradas en-
dmicas da Mata Atlntica. Das 69 espcies de
mamferos ameaados, 38 ocorrem nesse bioma
(55%), sendo 25 endmicas, como o tamandu-
bandeira (Myrmecophaga tridactyla) e o muriqui,
tambm conhecido como mono-carvoeiro (Bra-
chyteles arachnoides), o maior primata do con-
tinente americano e o maior mamfero endmico
do territrio brasileiro.
Entre as 20 espcies de rpteis ameaadas,
13 ocorrem na Mata Atlntica (65%), sendo 10
endmicas, a maioria com ocorrncia restrita aos
ambientes de restinga, um dos mais pressiona-
dos pela expanso urbana. Esto nessa categoria
espcies como a lagartixa-da-areia (Liolaemus
lutzae), a jibia-de-Cropan (Corallus cropanii) e
a tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea).
A verdade que, em um pas onde a biodi-
versidade pouco conhecida como o Brasil, h
espcies que podem ter sido extintas antes mesmo
de serem catalogadas pelos cientistas e outras que,
ao serem descobertas, entram imediatamente para
a trgica lista das ameaadas de extino. So os
casos, por exemplo, do mico-leo-da-cara-preta
(Leontopithecus caissara) e do pssaro bicudi-
nho-do-brejo (Stytalopus acutirostris), ambos
recentemente encontrados por pesquisadores no
Cambacica
Mata Cap1.indd 25 2/23/06 10:38:38 PM
26
U
m
a
e
x
p
l
o
s
o
d
e
v
i
d
a
litoral paranaense, a menos de 200 quilmetros
da cidade de So Paulo, a maior metrpole da
Amrica do Sul.
As espcies da Mata Atlntica tambm so
lembradas nas anlises mundiais de lacunas de
proteo da biodiversidade. O estudo feito pela
Conservao Internacional, Anlise Global de
Lacunas de Conservao, apresentado no V
Congresso Mundial de Parques (Durban/frica
2003), constatou que, no mundo, pelo menos
719 espcies de vertebrados vivem fora dos limi-
tes das unidades de conservao existentes e que
outras 943 espcies esto dentro de reservas to
pequenas que seu habitat no pode ser considerado
efetivamente protegido. Das 719 espcies sem
proteo, 140 so mamferos, 233 so aves e 346
anfbios. Das 233 espcies de aves consideradas
sem proteo, boa parte da Mata Atlntica.
Alm da perda de habitat, as espcies da Mata
Atlntica so grandes vtimas do trfco de ani-
mais, comrcio ilegal que movimenta 10 bilhes
de dlares no Brasil. Segundo as estimativas, em
cada 10 animais trafcados, apenas um resiste s
presses da captura e cativeiro. Existe ainda o pro-
blema de espcies que invadem regies de onde
no so nativas, prejudicando as espcies locais,
seja pela destruio de seu prprio habitat, seja por
solturas mal feitas de animais apreendidos. Um
exemplo aconteceu no Parque Estadual da Ilha
Anchieta, em So Paulo, onde foram soltas, pelo
governo, em 1983, vrias espcies de animais,
entre elas 8 cutias e 5 mico-estrelas, um sagi
natural de Minas Gerais. Sem predadores e com
alimento abundante, essas espcies se multiplica-
ram livremente e hoje contam com populaes de
1.160 e 654 indivduos, respectivamente. Como
conseqncia, cerca de 100 espcies de aves, cujos
ninhos so predados por esses animais, foram
extintas na ilha.
Populao
Grande parte da populao brasileira vive na
Mata Atlntica, pois foi na faixa de abrangncia
original desse bioma 15% do territrio brasilei-
ro que se formaram os primeiros aglomerados
Onapintada
Anta, o
maior
mamfero do
Brasil
Mata Cap1.indd 26 2/23/06 10:39:04 PM
27
U
m
a
e
x
p
l
o
s
o
d
e
v
i
d
a
urbanos, os plos industriais e as principais me-
trpoles. So aproximadamente 120 milhes de
pessoas (70% do total) que moram, trabalham e
se divertem em lugares antes totalmente cobertos
com a vegetao da Mata Atlntica.
Embora a relao no seja mais to evidente,
pela falta de contato com a foresta no dia-a-dia,
essas pessoas ainda dependem dos remanescentes
forestais para preservao dos mananciais e das
nascentes que os abastecem de gua, e para a regula-
o do clima regional, entre muitas outras coisas.
A Mata Atlntica tambm abriga grande
diversidade cultural, constituda por povos ind-
genas, como os Guaranis, e culturas tradicionais
no-indgenas como o caiara, o quilombola, o
roceiro e o caboclo ribeirinho. Apesar do grande
patrimnio cultural, o processo de desenvolvimen-
do palmito na foresta. Seu modo de vida, apesar
de eventuais prticas que agridem o ambiente,
defne-se por seu trabalho autnomo, por sua
relao com a natureza e pelo conhecimento que
conservam atravs da tradio.
Conhea um pouco de algumas dessas po-
pulaes:
Os ndios - Quando os portugueses chegaram
ao Brasil, em 1500, havia cerca de 5 milhes de
ndios por aqui. Embora no haja um censo indge-
na, estima-se que a populao de origem nativa e
com identidades especfcas defnidas some cerca
de 700.000 indivduos no Pas, vivendo em terras
indgenas ou em ncleos urbanos prximos. Isso
signifca 0,2% da populao brasileira. As tribos
que habitavam o litoral (Tamoios, Teminins, Tu-
piniquins, Caets, Tabajaras, Potiguares, Pataxs
e Guaranis) foram as primeiras a sofrerem com a
chegada dos colonizadores. Os brancos, alm de
espalhar doenas, usaram os ndios como soldados
nas guerras contra os invasores e como escravos.
Muitas etnias foram extintas e as que sobrevive-
ram sofrem as presses da civilizao.
Atualmente, na rea de Domnio da Mata
Atlntica, segundo levantamento do Instituto
Socioambiental (ISA), existem 133 terras ind-
genas, das quais 16 ainda esto em processo de
identifcao. As demais 117 ocupam 1 milho
de hectares, porm mais da metade dessa rea
Cidade de Taboquinhas, s margens do Rio de
Contas BA
to desenfreado fez com que essas populaes fcas-
sem de certa forma marginalizadas e muitas vezes
fossem expulsas de seus territrios originais.
Essas populaes tradicionais tm relao
profunda com o ambiente em que vivem, porque
dele so extremamente dependentes. Vivem da
pesca artesanal, da agricultura de subsistncia,
do artesanato e do extrativismo, como a coleta de
caranguejos no mangue, ostras no mar e o corte
ndios Guarani, regio das Misses RS
Mata Cap1.indd 27 2/23/06 10:39:31 PM
28
U
m
a
e
x
p
l
o
s
o
d
e
v
i
d
a
(539 mil hectares) pertence
Terra Indgena Kadiwu, nos
municpios de Porto Murtinho
e Corumb, no Mato Grosso
do Sul. As demais so reas
muito pequenas, a maior parte
com menos de 2 mil hectares,
geralmente insufcientes para
garantir a sobrevivncia ou a
manuteno do estilo de vida
tradicional indgena. So 27
terras no Mato Grosso do Sul,
22 no Rio Grande do Sul, 19
em Santa Catarina, 18 no Pa-
ran, 14 em So Paulo, 13 na
Bahia, seis em Minas Gerais,
quatro em Alagoas e no Espri-
to Santo, e trs na Paraba e no Rio de Janeiro.
Os caiaras - O caiara, que na lngua tupi
quer dizer armadilha de galhos, a herana
deixada pelo contato entre o colono e o ndio.
Mestios de ndios e portugueses, vivem entre o
mar e a foresta, sobrevivendo da pesca, do plantio
da mandioca e do extrativismo. Assim como as
forestas e os ndios que foram sumindo, a popula-
o caiara tambm est perdendo sua identidade
e sua cultura, principalmente pela explorao do
turismo e da especulao imobiliria.
Os quilombolas - So comunidades rurais
negras, muitas delas formadas por descendentes
de escravos remanescentes dos antigos quilombos
(fundados por escravos fugidos) e que preservam
a cultura negra tradicional. Como exemplos da re-
sistncia dessa cultura na Mata Atlntica, pode-se
citar as comunidades do Vale do Ribeira, em So
Paulo. Descendentes de escravos desgarrados de
velhas fazendas do sculo XVIII, os quilombolas
tm hoje direito legal terra que ocupam, graas
Constituio de 1988.
No Vale do Ribeira, so cerca de 50 comu-
nidades como as de Ivaporunduva, Praia Grande,
Nhunguara e So Pedro, mas apenas 13 so ofcial-
mente reconhecidas pelo Instituto de Terras do Es-
tado de So Paulo (Itesp). Outras esto em processo
de identifcao. Um exemplo vivo dessa histria
a capela de Ivaporunduva, construda em 1779,
onde ainda celebrada a missa afro-catlica.
Nos ltimos anos, as populaes tradicionais
tm desempenhado um novo papel no cenrio
scio-poltico, sobretudo na rea de conservao
ambiental, em virtude do grande conhecimento
acumulado sobre a biodiversidade, das prticas
de manejo e tambm dos movimentos de defesa
de seus modos de vida.
Atualmente cresce o nmero de projetos
de desenvolvimento sustentvel executados por
essas comunidades, muitos deles em unidades de
conservao de uso sustentvel como as Reser-
vas Extrativistas, reas de Proteo Ambiental e
reas de Relevante Interesse Ecolgico.
gua
J em 1500 a riqueza de gua da Mata Atln-
tica foi objeto de observao. Pero Vaz de Cami-
nha, em sua carta ao Rei D. Manuel, escrevia:
A terra em si de mui bons ares...As guas so
Caiaras sul da Bahia
Mata Cap1.indd 28 2/23/06 10:40:02 PM
29
U
m
a
e
x
p
l
o
s
o
d
e
v
i
d
a
muitas, infndas; em tal maneira graciosa, que,
querendo-a aproveitar, dar-se- nela tudo por bem
das guas que tem.
Atualmente, aproximadamente 120 milhes
de brasileiros se benefciam das guas que nascem
na Mata Atlntica e que formam diversos rios que
abastecem as cidades e metrpoles brasileiras.
Alm disso, existem milhares de nascentes e pe-
quenos cursos dgua que aforam no interior de
seus remanescentes.
Um estudo do WWF (2003) constatou que
mais de 30% das 105 maiores cidades do mundo
dependem de unidades de conservao para seu
abastecimento de gua. Seis capitais brasileiras
foram analisadas no estudo, sendo cinco na Mata
Atlntica: Rio de Janeiro, So Paulo, Belo Hori-
zonte, Salvador e Fortaleza. A tendncia mundial
se confrmou no Brasil pois, com exceo de
Fortaleza, todas as cidades brasileiras pesquisa-
das dependem em maior ou menor grau de reas
protegidas para o abastecimento.
A Mata Atlntica abriga uma intrincada rede
de bacias hidrogrfcas formadas por grandes rios
como o Paran, o Tiet, o So Francisco, o Doce,
o Paraba do Sul, o Paranapanema e o Ribeira
de Iguape. Essa rede importantssima no s
para o abastecimento humano mas tambm para
o desenvolvimento de atividades econmicas,
como a agricultura, a pecuria, a indstria e todo
o processo de urbanizao do Pas.
Infelizmente, se Pero Vaz de Caminha vol-
tasse hoje ao Brasil, diria que a quantidade de
foresta que ele viu j no existe mais e as guas,
conseqentemente, deixaram de ser infndas.
Segundo pesquisas realizadas pelo Labo-
ratrio de Hidrologia Florestal Walter Emerich,
do Instituto Florestal de So Paulo, existe uma
relao muito ntima entre a quantidade de gua
na Mata Atlntica e o estado de conservao da
foresta. Essas pesquisas produziram um dado
indito sobre o regime hdrico na regio de Cunha
(SP): de toda a chuva que cai na Mata Atlntica,
nesse stio, ao longo de um ano, 70% abastece as
guas dos rios de forma continuada e permanente.
Isso signifca uma alta produo de gua pura.
Maior que o aproveitamento da gua indicada
em estudos realizados na Floresta Amaznica,
por exemplo, que chega a apenas 50% (Rocha
& Costa, 1998).
A foresta auxilia no que se chama de regime
hdrico permanente. Com seus vrios componen-
tes (folhas, galhos, troncos, razes e solo), age
como uma poderosa esponja que retm a gua da
chuva e a libera aos poucos, ajudando a fltr-la
e a infltr-la no subsolo, alimentando o lenol
fretico. Com o desmatamento, surgem problemas
como a escassez, j enfrentada em muitas das
cidades situadas no Domnio da Mata Atlntica.
guas lmpidas, cada vez mais raras. Itacar BA
Mata Cap1.indd 29 2/23/06 10:40:05 PM
30
U
m
a
e
x
p
l
o
s
o
d
e
v
i
d
a
Esse tambm o principal motivo da neces-
sidade de se preservar e recuperar a mata ciliar,
que o conjunto de rvores, arbustos, capins,
cips e fores que crescem nas margens dos rios,
lagos e nascentes. As reas nas margens de rios,
lagos e nascentes onde ocorrem as matas ciliares
so consideradas de preservao permanente pelo
Cdigo Florestal Brasileiro.
O nome mata ciliar vem de clios. Assim
como os clios protegem os olhos, a mata ciliar
protege os rios, lagos e nascentes, cobrindo e pro-
tegendo o solo, deixando-o fofo e permitindo que
funcione como uma esponja que absorve a gua
das chuvas. Com isso, alm de regular o ciclo da
gua, evita as enxurradas. Com suas razes, a mata
ciliar evita tambm a eroso e retm partculas de
solo e materiais diversos, que com a chuva iriam
acabar assoreando o leito dos rios.
Esse conjunto de rvores, com sua sombra e
frutos, muito importante tambm para a proteo
e preservao da diversidade da fora e fauna e
para o equilbrio do ecossistema como um todo.
Em toda a Mata Atlntica, muitas matas
ciliares ao longo de rios, lagos e nascentes foram
desmatadas e indevidamente utilizadas. As con-
seqncias dessa destruio so sentidas diaria-
mente, com o agravamento das secas e tambm
das enchentes, o que torna necessria uma urgente
ao de recuperao.
As recomendaes, apontadas pelo estudo
do WWF, principalmente para as cidades da Mata
Atlntica, so a criao de reas protegidas em
torno de reservatrios e mananciais e o manejo
de mananciais que esto fora das reas protegi-
das. Embora a legislao restrinja a ocupao
ao redor de reas de mananciais, em So Paulo,
por exemplo, h milhares de pessoas habitando a
beira de reservatrios como as represas Billings
e Guarapiranga. Com a degradao dessas reas,
as companhias de abastecimento so obrigadas a
buscar gua mais longe, a um custo maior.
O estudo do WWF aponta tambm dados
econmicos para justifcar a adoo dessas reco-
mendaes, enfatizando que muito mais barato
conservar as forestas nas reas de mananciais do
que construir centros de tratamento mais com-
plexos para purifcar a gua poluda. A cidade de
Nova Iorque citada como exemplo: h dcadas
a administrao da cidade optou por purifcar a
gua potvel fltrando-a naturalmente pelas fo-
restas, a um custo inicial de US$ 1 bilho a US$
1,5 bilho no perodo de dez anos. sete vezes
mais barato do que os US$ 6 a US$ 8 bilhes
que seriam gastos na forma tradicional de tratar e
distribuir gua potvel, mais US$ 300 a US$ 500
milhes anuais em custos operacionais.
Bibliografa, pg. 312
Quedas do Rio Chapec SC
Mata Cap1.indd 30 2/23/06 10:40:18 PM
31
O
s
c
i
c
l
o
s
d
e
d
e
s
t
r
u
i
o
Os ciclos de
destruio
Mata Cap2.indd 31 2/23/06 10:45:08 PM
32
O
s
c
i
c
l
o
s
d
e
d
e
s
t
r
u
i
o
destruio e utilizao irracional da
Mata Atlntica comeou em 1500 com a
chegada dos europeus. Nestes 500 anos,
a relao dos colonizadores e seus sucessores com
a foresta e seus recursos foi a mais predatria pos-
svel. No entanto, foi no sculo XX que o desmata-
mento e a explorao madeireira atingiram nveis
alarmantes. Das forestas primrias, s foi valori-
zada a madeira, mesmo assim apenas de algumas
poucas espcies. Nenhum valor era atribudo aos
produtos no-madeireiros e os servios ambientais
das forestas eram ignorados ou desconhecidos.
Todos os principais ciclos econmicos desde
a explorao do pau-brasil, a minerao do ouro
e diamantes, a criao de gado, as plantaes de
cana-de-acar e caf, a industrializao, a expor-
tao de madeira e, mais recentemente, o plantio
de soja e fumo foram, passo-a-passo, desalojando
a Mata Atlntica.
Historicamente, os setores agropecurio,
madeireiro, siderrgico e imobilirio pouco se
preocuparam com o futuro das forestas ou com
a conservao da biodiversidade. Pelo contrrio,
sempre agiram objetivando o maior lucro no
menor tempo possvel. O mais grave que essa
falta de compromisso com a conservao e, muitas
vezes, at o estmulo ao desmatamento, partiram
dos governos.
Em 1850, o Estado de So Paulo tinha 80%
de seu territrio coberto por Mata Atlntica, os
outros 20% eram Cerrado e outros ecossistemas.
Com a expanso da cultura do caf e a indus-
trializao, apenas 100 anos depois, em 1950,
restavam somente 18% de Mata Atlntica, mas
isso preocupava pouca gente, pois a fumaa das
fbricas era vista e apreciada como paisagem do
progresso (Rocha & Costa, 1998).
Explorao incentivada
Segundo Newton Carneiro em Um Pre-
cursor da Justia Social David Carneiro e a
Economia Paranaense, em 1873 a Companhia
Florestal Paranaense, com o objetivo de fazer
propaganda e atrair os importadores europeus,
Desmatamento em Atalanta (SC) na dcada de 1940
F
o
t
o
:
A
r
q
u
i
v
o
A
p
r
e
m
a
v
i
A
Mata Cap2.indd 32 2/23/06 10:45:09 PM
33
O
s
c
i
c
l
o
s
d
e
d
e
s
t
r
u
i
o
chegou a cortar em pedaos uma araucria de 33
metros de altura, transportando-a de navio para a
Europa, onde foi novamente montada em p, na
Exposio Internacional de Viena.
Um exemplo da forma como o desmatamento
era estimulado pode ser encontrado em Relquias
Bibliogrfcas Florestais, que transcreve uma ex-
posio de motivos feita em 1917, pela Comisso
da Sociedade Nacional de Agricultura, para o
Ministro da Agricultura, Indstria e Comrcio.
A Comisso solicitava ao governo federal e aos
governadores dos estados que fzessem ampla
campanha estimulando o corte de nossas forestas
para exportao ao mercado europeu, depois que
terminasse a Primeira Guerra Mundial.
No documento intitulado O Crte das
Mattas e a Exportao das madeiras
brasileiras, pode-se encontrar o se-
guinte pargrafo:... Seria um acto re-
velador de intelligente previso e muito
remunerador aproveitarmos o prazo que
nos separa da data em que se celebrar
a paz, para darmos a mxima actividade
indstria extrativista das madeiras,
formando por toda a parte, na proxi-
midade dos nossos portos de embarque,
avultados stocks de madeiras seccas e
limpas que sero procuradas com em-
penho e promptamente expedidas por
bom preo, para o exterior, quando a
guerra cessar. ...por meio de reiteradas
publicaes feitas na imprensa diria de
todos os municpios, e por outras medi-
das adequadas, estenderia a patritica
propaganda para todo o paiz....
J no fnal da dcada de 1920, podia-se ver
o resultado perverso das polticas forestais equi-
vocadas da poca. Uma descrio da irracionali-
dade praticada contra a Mata Atlntica pode ser
encontrada num livro escrito em 1930 por F. C.
Hoehne. Ao liderar uma expedio, na qualidade
de assistente-chefe da seo de botnica e agro-
nomia do Instituto Biolgico de Defesa Agrcola
e Animal do Estado de So Paulo, Hoehne per-
correu de trem a regio das matas onde ocorria a
araucria, nos estados do Paran e Santa Catarina,
passando pelas regies de Curitiba, Ponta Grossa,
Rio Negro, Mafra, So Francisco do Sul, Porto
Unio, alm de outras cidades menores, chegando
a Joinville.
Canrio morto em estrada
Registrou em detalhes a beleza da paisagem,
a diversidade da fora, a presena humana e a
destruio promovida pela explorao madei-
reira irracional e pela expanso de pastagens e
agricultura sem nenhum cuidado com o meio
ambiente. Em Trs Barras, a caminho de Porto
Unio, Hoehne descreveu com intensa revolta
a enorme degradao promovida pela empresa
South Brazilian Lumber and Colonisation Comp.
Ltda., que , em troca da construo de trechos da
estrada de ferro So Paulo-Rio Grande, recebera
a concesso para explorar milhares de hectares
de forestas ricas em araucrias e imbuias, numa
extenso de 15 km em cada lado da ferrovia.
Mata Cap2.indd 33 2/23/06 10:45:19 PM
34
O
s
c
i
c
l
o
s
d
e
d
e
s
t
r
u
i
o
Hoehne escreveu: ...Algum disse que
o nosso caipira semeador de taperas,
fabricante de desertos e um inimigo das
mattas.
...Assim procederam e continuam agin-
do as vanguardas da nossa civilizao,
que denominamos pioneiros e desbra-
vadores do serto.
...Urge que os governos opponham um
dique onda devastadora de madeiras,
que ameaa transformar nossa terra em
um deserto.
O brasilianista Warren Dean, registra
que durante uma conferncia em Minas
Gerais, realizada em 1924, um orador
disse: Entre ns nulo o amor por
nossas forestas, nula a compreenso
das infelizes conseqncias que derivam
de seu empobrecimento e do horror que
resultaria de sua completa destruio.
Fortalecer o sentimento (de conser-
vao) uma medida de necessidade
urgente.
Acima das reservas
Para entender melhor o processo de destrui-
o da Mata Atlntica, vejamos alguns dados de
um estudo feito no Estado do Paran na dcada
de 1960. Em 1963, foi realizado o Inventrio do
Pinheiro no Paran pela Comisso de Estudos
dos Recursos Naturais Renovveis do Estado do
Paran (Cerena), em colaborao com a Escola
de Florestas da Universidade Federal do Paran,
Escola de Agronomia e Veterinria da Universidade
Federal do Paran, Departamento de Geografa,
Terras e Colonizao e Organizao das Naes
Unidas para a Agricultura e Alimentao (FAO).
Eis alguns nmeros e concluses do estudo: em
1963 a rea total de forestas no Paran era de cerca
de 6.500.000 hectares (em 1995, restavam somente
1.730.500 ha de forestas primrias e secundrias,
segundo o Atlas dos Remanescentes Florestais no
Domnio da Mata Atlntica SOS, INPE, ISA);
naquele mesmo ano, a rea total com remanescentes
de araucria era estimada em 1.500.000 ha. O es-
tudo estimou em 45.000.000 m
3
o estoque total de
Toras de
araucria
em Serraria,
Bituruna
PR, 1995
Mata Cap2.indd 34 2/23/06 10:45:48 PM
35
O
s
c
i
c
l
o
s
d
e
d
e
s
t
r
u
i
o
madeira de araucria no Estado do Paran naquele
ano. Concluiu que, a continuar o corte anual de
3.000.000 m
3
, a reserva de madeira estaria liqui-
dada em 15 anos a contar do ano de 1963.
...De acordo com o que ficou de-
monstrado, o desenvolvimento anual
das matas remanescentes muito mais
baixo do que o corte processado pela
indstria madeireira no mesmo perodo
de tempo. Em razo desse desequilbrio,
uma crise se delineia em futuro muito
prximo. ...A atual indstria madeireira
est na realidade baseada num corte
anual de cerca de 10 vezes o incremento
anual total de madeira, que de apenas
460.000 m
3
.
Tambm fcou demonstrado que, alm
da Floresta Ombrfla Mista, que vinha
sendo dizimada pelos madeireiros, as
forestas estacionais e densas tambm
vinham sofrendo uma intensa destrui-
o: ...Pode ser feita uma avaliao
da rea forestal anualmente destruda
no Estado do Paran, principalmente
pelos fazendeiros, baseando-se em
fotografas areas de 1963 e 1953. Os
clculos revelaram que anualmente
so destrudos cerca de 250.000 ha de
forestas tropicais. rea equivalente a
2.500 km
2
/ano de forestas destrudas.
Em 1965, segundo o Instituto Nacional do
Pinho, havia no Paran: 1.395 serrarias de pro-
duo para exportao e consumo local do pinho;
278 fbricas de laminados e compensados, 926
fbricas de pinho benefciado, caixas, cabos de
vassouras, artefatos de lminas; 256 fbricas de
mveis; 188 exportadores de madeira; 932 co-
merciantes de madeira; e 94 fbricas de celulose,
papel e pasta mecnica.
Esses dados mostram claramente que h 40
anos j se sabia que a Mata Atlntica vinha sendo
destruda numa velocidade muito maior do que
a sua capacidade de auto-regenerao. O estudo
fez sugestes de medidas que deveriam ter sido
tomadas naquela poca:
...A aplicao do Cdigo Florestal
(art.16) uma frmula justa a ser
considerada pelos poderes estaduais.
...Um dos primeiros passos a dar em
direo recuperao forestal do Es-
tado estabelecer reservas forestais,
a fm de manter a cobertura forestal
permanente e prover o suprimento ne-
cessrio de madeira e matria-prima
para a indstria de papel e as demais
de transformao.... Para o Paran isto
signifca manter reservas de cerca de
3 a 4 milhes de hectares.
Figueira centenria derrubada durante estudo
para implantao de linha de transmisso de
energia eltrica, Lontras SC
Mata Cap2.indd 35 2/23/06 10:46:18 PM
36
O
s
c
i
c
l
o
s
d
e
d
e
s
t
r
u
i
o
Como nenhuma das medidas sugeridas foi
levada a srio, os nmeros de serrarias e empre-
gos foram diminuindo juntamente com a foresta.
Isso mostra que houve no apenas uma insusten-
tabilidade ambiental na explorao da foresta,
mas tambm uma completa insustentabilidade
econmica e social nessa explorao. Segundo
estudo da Fundao de Pesquisas Florestais do
Paran (FUPEF, 2001), restam hoje no Paran
apenas 0,8% (66.000 ha) de remanescentes de
foresta com araucria em estgio avanado de
regenerao. Ambientes intocados so pratica-
mente inexistentes.
Cerco fnal
Warren Dean, no livro A Ferro e fogo,
faz um dos relatos mais impressionan-
tes do processo de destruio da Mata
Atlntica. As polticas governamentais
brasileiras tinham como imperativo o
desenvolvimento econmico e, j na
primeira metade do sculo XX, havia se
dado o cerco fnal Mata Atlntica.
A idia de desenvolvimento econmico
penetrava a conscincia da cidadania,
justifcando cada ato de governo, e at de
ditadura, e de extino da natureza.
Durante a primeira Conferncia das Naes
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento,
realizada em Estocolmo (Sucia), em 1972, os
representantes do governo brasileiro deram ao
mundo um dos mais deplorveis exemplos de des-
considerao para com o meio ambiente de todos
os tempos, ao declararem que venha a poluio,
desde que as fbricas venham com ela.
No s os governantes desde a poca dos
portugueses, mas a maioria dos brasileiros tam-
bm sempre foi indiferente destruio da Mata
Atlntica, cabendo aos cientistas e algumas fguras
pblicas a defesa de teses conservacionistas, pelo
menos at a dcada de 1970. ROCHA & COS-
TA (1998) nos do uma idia dessa indiferena:
O homem estava de costas para as forestas e
desprezava o conhecimento indgena sobre ela,
ainda que tivesse adotado a maioria de suas plan-
tas alimentcias, como a mandioca e o milho, e
a imensido de frutas que at hoje so fonte de
vitamina e alegria para todos os brasileiros.
A poltica do crescimento a qualquer custo
adotada pelo Brasil aps a Segunda Guerra Mun-
dial teve no plo industrial de Cubato, no litoral
de So Paulo, o seu principal cone. Os resultados
catastrfcos da poluio e da alta concentrao
de gases na atmosfera lanados pelas indstrias
comearam a aparecer na dcada de 1970, com
a populao da regio sofrendo problemas res-
piratrios e at o nascimento de bebs com m
formao. Alm disso, a chuva cida desestabi-
lizou todo o ecossistema da Mata Atlntica nas
encostas da Serra do Mar. Em fevereiro de 1985,
fortes chuvas provocaram enormes deslizamentos
nas encostas, causando diversas mortes em bairros
como a Vila Parisi e tambm atingindo e levando
prejuzos econmicos a diversas indstrias.
Mas a destruio da Mata Atlntica no parou
por a. Nos tempos modernos outros ciclos surgi-
ram e ainda esto em andamento, continuando a
colocar o bioma em risco.
Desmatamento em regio de araucria SC, 2005
Mata Cap2.indd 36 2/23/06 10:46:33 PM
Os estados da
Mata Atlntica
Mata Cap3 00Abre+RS.indd 37 2/23/06 10:48:11 PM
38
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
P
resente em 17 estados brasileiros, a Mata
Atlntica que conhecemos hoje o re-
sultado de diferentes paisagens originais,
forjadas pelos processos naturais, e tambm de
diferentes histrias de ocupao, explorao e
manejo, conforme sua localizao. Assim, apre-
sentar o que aconteceu (e ainda est acontecendo)
com o bioma em cada um desses locais uma
forma de entender o todo, a partir da montagem
de um quebra-cabea, atravs da diversidade de
informaes e at de abordagem dos artigos.
Escritos preferencialmente por pessoas do
prprio estado (ou regio, no caso do Nordeste),
cada um dos textos traz enfoques diferentes, mas
sempre buscando clarear o entendimento sobre
como a Mata Atlntica chegou situao de quase
extino em alguns estados, como em Alagoas,
onde sobraram apenas 6,04% da rea original
do bioma, ou ento no Piau, onde restaram ape-
nas 0,1% da rea original. Tambm possvel
perceber que a explorao predatria, mesmo
nos estados de ocupao mais antiga, como So
Paulo, ocorreu mais intensamente nos ltimos 100
anos. O mesmo processo de desmatamento rpi-
do e descontrolado atingiu estados de ocupao
mais recente, como o Esprito Santo, que passou
trs sculos e meio de ocupao portuguesa com
suas forestas praticamente intactas, mas entrou
no sculo XXI com ndices de cobertura vegetal
semelhante aos demais estados do bioma.
Alm de mostrar as peculiaridades das ftof-
sionomias da Mata Atlntica nos estados, alguns
textos analisam as condies de cada uma delas,
as presses atuais e o que tem sido feito no sentido
de inverter o processo de destruio. Em geral, os
autores ressaltam que, apesar de haver iniciativas
bem-sucedidas de conservao e alguns bolses
de recuperao, os ganhos ainda so frgeis e de-
pendentes de polticas pblicas ainda incipientes
e vigilncia constante da sociedade.
rvores petrifcadas no municpio de Mata RS
Mata Cap3 00Abre+RS.indd 38 2/23/06 10:48:23 PM
39
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
Localizado no extremo sul do Brasil, na fron-
teira do Uruguai e Argentina, o estado do Rio
Grande do Sul possui 282.062 km
2
, populao
de 10.187.798, clima subtropical, relevo com trs
regies naturais distintas e dois grandes biomas:
Mata Atlntica (no planalto serrano e regio lagu-
nar) e Pampa. Originalmente trs grupos indgenas
ocupavam o territrio gacho: o ge ou tapuia, o
pampeano (Charrua, minuano) e o guarani. Dois
fatores diferem a cultura do Rio Grande do Sul
dos demais estados do Brasil: a ocupao tardia
do territrio e a guerras.
A ocupao deu-se, principalmente, a partir
de 1824 com a chegada de imigrantes alemes em
1875 e com os italianos que se instalaram no Vale
do Rio dos Sinos e na Serra.
Os confitos entre portugueses e espanhis
sobre os limites da fronteira no extremo sul do
Brasil s se encerraram em 1777 e a defnio da
fronteira defnitiva hoje correspondente ao Estado
s aconteceu em 1801. No perodo entre 1835 e
1845, aconteceu a Revoluo Farroupilha, que
tinha por objetivo proclamar a independncia do
Estado que no aceitava a subordinao imposta
pelo Governo Central. Nessa poca, os ideais
de liberdade chegaram ao extremo sul do Brasil
vindos da Europa.
Historicamente a base da economia ga-
cha a pecuria e a agricultura, mas hoje as
atividades industriais tambm tm destaque.
O Estado conhecido como celeiro do Brasil
em razo da grande produo de soja, trigo,
arroz e milho. Entre as atividades industriais
destacam-se a coureiro-caladista, alimentcia,
metalrgica e qumica.
Estima-se que em 1500 havia 11.202.705 km
2
(39,70 hectares) com cobertura de vegetao de
Mata Atlntica no Estado. Em 1940, a cobertura
original era de 9.898.536 Km
2
(35,08%), mas
em menos de 20 anos perdeu-se mais 7 milhes
de hectares dessa vegetao, restando apenas
2.700.501 Km
2
(9,57%). Estudo da Fundao SOS
Mata Atlntica e Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE) mostrou que em 1995 havia so-
mente 2,69% do territrio gacho com cobertura
de remanescentes de Floresta Atlntica. Uma sim-
ples e rpida anlise constata que o desmatamento
ocorrido est estreitamente relacionando com o
aumento da rea agrcola que ocorreu com a mi-
grao de colonos e seus descendentes para novas
Rio Grande do Sul
Parque Nacional dos Aparados da
Serra
Mata Cap3 00Abre+RS.indd 39 2/23/06 10:48:25 PM
40
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
Runas de So
Miguel das
Misses, j no
limite com o
Pampa
reas, assim como a mecanizao da agricultura.
Como em outras regies, o crescimento popu-
lacional e a conseqente urbanizao tambm
infuenciaram os altos ndices de desmatamento.
O Domnio da Mata Atlntica no Rio Grande
do Sul constitudo de foresta ombrfla densa,
foresta ombrfla mista (foresta com araucria),
foresta estacional semidecidual, campos de alti-
tude, restinga.
Nos ltimos anos, percebe-se a recuperao
forestal em reas abandonadas pela agricultura.
A mecanizao e a falta de polticas pblicas para
o pequeno agricultor tm levado os produtores
rurais a abandonar reas antes usadas para agri-
cultura, principalmente as encostas de morros.
Por outro lado, o desmatamento continua.
Pequenos produtores continuam a desmatar
para aumento da rea produtiva ou para lenha,
serrarias continuam a explorar forestas nativas,
empreendimentos de infra-estrutura como es-
tradas e barragens so permitidos em rea com
remanescentes forestais.
Remanescentes atuais
No Litoral Norte, encontra-se o principal
conjunto de remanescentes da foresta atlntica,
mais especifcamente de foresta ombrfla densa
e, do lado atlntico, juncais, campo seco, fgueiras,
jerivs, cedros, timbavas; no lado continental, re-
manescentes de matas de restinga. Na regio, est
localizada a Reserva Biolgica Estadual da Serra
Geral - na parte alta -, Parque Estadual de Itapeva
na plancie - e Reserva Ecolgica da Ilha dos
Lobos - no oceano, junto cidade de Torres.
Nessa regio, predomina o minifndio, onde
a terra explorada ao mximo, inclusive em reas
de preservao permanente (APPs), com a cultura
da banana (nas encostas) e arroz. A urbanizao da
orla martima para turismo de vero responsvel
pela degradao ou extino de reas com mata
ou vegetao de restinga, banhados e a remoo
de dunas.
No planalto gacho, encontra-se um dos
mais ameaados ecossistemas da Mata Atlntica:
a foresta com araucria associada aos campos
de altitude. O pinheiral possui dois andares per-
ceptveis ao olhar: o andar inferior consiste de
rvores baixas, geralmente mirtceas, sendo o
andar superior o domnio da araucria (Araucaria
angustifolia).
Nessa regio, tambm restam alguns poucos
remanescentes da foresta estacional semideci-
dual, pequenas manchas de um macio contnuo
que unia Argentina, Paraguai e Brasil. A regio
abriga uma das mais belas paisagens do Brasil: os
cnions do Itaimbezinho e Fortaleza, localizados
nos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra
Mata Cap3 00Abre+RS.indd 40 2/23/06 10:48:34 PM
41
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
Rio Camaqu
e seus
remanescentes
forestais
Geral na divisa do Rio Grande do Sul com Santa
Catarina. No planalto, esto localizadas grandes
reas com monoculturas de soja, milho e pinus e
plantios menores de batata, alho e repolho, entre
outros. Pelas caractersticas de relevo, a regio tem
grande potencial de aproveitamento hidreltrico,
especialmente na bacia do Rio Uruguai, na divisa
com Santa Catarina, o que indica mais agresso
vegetao nativa. Junto ao Rio Uruguai ocorre a
foresta estacional semidecidual, formada por es-
pcies como a canafstula, que foresce em janeiro
e fevereiro, a paineira, o alecrim, a canela, o cedro
e o louro, sendo os ltimos quase extintos pela ao
de madeireiras.
Na regio serrana, encostas do planalto vol-
tadas para o sul, encontram-se remanescentes de
foresta estacional semidecidual e, nas partes mais
altas, foresta com araucrias e campos de altitude
e, no leste, da foresta estacional semidecidual. a
regio de colonizao alem e italiana, com reas
de minifndios intensamente exploradas. dessa
regio que vem a maior presso para a fexibiliza-
o e utilizao das reas de preservao perma-
nente. Os vitivinicultores, por exemplo, usam as
encostas para plantio da uva em grandes parreirais.
A regio tambm apresenta grande urbanizao e
o principal plo metal-mecnico do Estado.
Nas regies do Litoral Mdio e Sul e tambm
no entorno da Lagoa dos Patos (na verdade uma
laguna), existem diversos remanescentes da mata
de restinga e formaes de dunas paleolticas e
foresta estacional semidecidual. Na regio, es-
to localizados a Estao Ecolgica do Banhado
do Taim, o Parque Nacional da Lagoa do Peixe,
ambas com destacado papel na proteo de aves
migratrias, e o Parque Estadual do Delta do Ca-
maqu (foresta estacional semidecidual). As reas
de banhados (alagadas) so tradicionalmente ocu-
padas por grandes plantaes de arroz ou drenadas
para pecuria. O crescimento urbano aumenta nas
cidades localizadas beira da Laguna dos Patos
em razo do turismo de vero. A beleza cnica
da regio nica, com a presena de fgueiras
centenrias s margens das inmeras lagoas que
ocorrem nessa rea.
At 2005, o Rio Grande do Sul era o nico
estado brasileiro onde a caa amadora era permi-
tida. Somente nesse ano, uma sentena judicial
suspendeu a temporada de caa que ocorria na
regio em razo das aves de banhado, muito vi-
sadas pelos caadores.
Outra caracterstica do Estado o trabalho
conjunto entre diversas instituies visando a pro-
teo e recuperao do bioma Mata Atlntica. O
Comit Estadual da Reserva da Biosfera da Mata
Atlntica tem atuao ativa com a participao de
Secretarias de Estado, ONGs ambientalistas, repre-
sentantes dos moradores e comunidade cientfca.
Desde sua criao, em 1994, esse Comit mantm
continuadas aes em prol da foresta atlntica.
Mata Cap3 00Abre+RS.indd 41 2/23/06 10:48:44 PM
42
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
Campos nativos em So Jos dos Ausentes
Municpio de So Jos dos Ausentes
Tambm o Elo da Rede Mata
Atlntica tem tido papel relevante
para congregar e fortalecer as aes
das ONGs que atuam no bioma. O
Elo-RS, que atua desde 2002, possui
coordenao de trs entidades, mais
uma secretaria executiva, uma es-
trutura de trabalho no existente nos
demais estados brasileiros.
Kathia Vasconcellos Monteiro
coordenadora do Ncleo Amigos da
Terra/Brasil e Nely Blauth asses-
sora tcnica do Ncleo Amigos da
Terra/Brasil
Mata Cap3 00Abre+RS.indd 42 2/23/06 10:49:09 PM
43
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
Aes de proteo na Zona Costeira*
Na regio do Rio Grande do Sul, at
Uruguai adentro, diversos banhados formam
uma imensa zona mida latino-americana. A
Laguna dos Patos, as lagoas Mirim e Man-
gueira so enormes reservatrios de gua
interagindo com banhados e marismas. Uma
singular diversidade de fauna e fora - algu-
mas raras, endmicas e/ou ameaadas de
extino - encontrada nos remanescentes e
ecossistemas associados de Mata Atlntica,
que sofrem pelas externalidades oriundas
das mltiplas atividades urbanas e tambm
rurais.
O Centro de Estudos Ambientais (CEA),
organizao ecolgica no-governamental,
com mais de 22 anos de atuao na regio,
tem priorizado suas aes e projetos em edu-
cao ambiental e direito ambiental na regio,
tendo como escopo a sustentabilidade das
Zonas midas.
Muitos diplomas legais foram conquis-
tados atravs de processos de participao
e organizao popular em municpios dessa
zona costeira gacha. Em Pelotas, pode-
mos citar: a Lei 3835/94, que reestrutura o
Conselho Municipal de Proteo Ambiental
(Compam); a Lei 4125/96 que dispe sobre a
criao do Programa Adote Uma rea Verde;
a Lei 4336/98, que declara de valor paisags-
tico e ecolgico a Mata do Tot, localizada
no Balnerio do Laranjal e Barro Duro; a Lei
4354/99, que institui o Cdigo Municipal de
Limpeza Urbana (CLU); a Lei 4392/99, que
declara como rea de interesse ecoturstico
a orla da Laguna dos Patos, no municpio
de Pelotas; Lei 4428/99, que dispe sobre a
fora nativa extica do municpio de Pelotas;
a Lei 4753/01, que dispe sobre o Fundo
para a Sustentabilidade do Espao Municipal
(Fusem) e a Lei Orgnica Municipal, ainda
que de forma tmida.
Praia da Guarita em Torres
Mata Cap3 00Abre+RS.indd 43 2/23/06 10:49:18 PM
44
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
Atravs de diversos projetos de educa-
o ambiental, o envolvimento da coletivida-
de tem ajudado a construir noes tericas e
resultados prticos de sustentabilidade, com
incluso social. Destacamos o Projeto Mar
de gua Doce (Promad), desenvolvido em
1995 e que recebeu prmios internacionais;
Projeto Abrace a Lagoa; movimento Eu
tambm Quero a Lagoa Despoluda; pro-
jetos de educao ambiental desenvolvidos
juntamente com o Programa Mar de Dentro,
do governo do estado do Rio Grande do Sul,
atualmente quase extinto pela proposta polti-
ca governante; apoio ao projeto Coletivos de
Trabalho e atualmente Construindo a Agenda
21 de Pelotas, o qual encontra-se numa fase
de elaborao de projetos para posterior
execuo, caso o governo municipal no
comprometa ainda mais sua continuidade.
Entretanto, chegou-se a esse mdulo
depois de vrias reunies pblicas com a co-
letividade da orla da laguna dos Patos, cons-
tituda por moradores (muitos pescadores e
outros cuja sobrevivncia tambm depende
dos elementos ambientais) e veranistas. A
comunidade local diagnosticou e apontou
premissas para projetos e aes, apoiados
por uma parceria das ONGs e governo lo-
cal, Ministrio do Meio Ambiente e o Fundo
Nacional do Meio Ambiente. Uma pesquisa
realizada junto comunidade destacou a
importncia da proteo dos banhados e das
matas remanescentes da orla, despertando
uma nova relao para com tais ecossiste-
ma daqueles (agentes socioambientais) que
formam os Ncleos de Educao Ambiental
(NEAs).
*Antonio C. P. Soler, advogado ambienta-
lista, mestrando em desenvolvimento susten-
tvel (Argentina) e coordenador do Elo-Sul
Rede Mata Atlntica pelo CEA.
Aves tpicas do Rio Grande do Sul
PROJETOS NO RS: pgs. 238, 251 e
264
AMEAAS NO RS: pgs. 201, 211, 215,
221 e 223.
A REDE NO ESTADO: pg. 301
Mata Cap3 00Abre+RS.indd 44 2/23/06 10:49:32 PM
45
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
Com uma extenso territorial de 95.985 km
2
, dos
quais 85%, ou 81.587 km2, estavam originalmente
cobertos pela Mata Atlntica, Santa Catarina si-
tua-se hoje como o terceiro Estado brasileiro com
maior rea de remanescentes da Mata Atlntica,
resguardando cerca de 1.662.000 hectares (16.620
Km
2
), ou 17,46% da rea original. Registra-se que
a rea do Estado corresponde to somente a 1,12%
do territrio brasileiro. Esses dados bem ilustram
a crtica situao atual da Mata Atlntica.
De acordo com o Mapa Fitogeogrfco do
Estado de Santa Catarina, a cobertura forestal
do Estado est subdividida em Floresta Pluvial da
Encosta Atlntica, Floresta de Araucria ou dos
Pinhais e Floresta Subtropical da bacia do Rio
Uruguai. A Floresta Pluvial da Encosta Atlntica,
tambm conhecida como foresta ombrfla densa,
juntamente com seus ecossistemas associados,
manguezais e restingas, cobria 31.611 km
2
ou
32,9% do territrio catarinense. A Floresta de
Araucria, defnida como foresta ombrfla mista,
cobria 40.807 km
2
, ou seja, 42,5% do territrio
do Estado, compondo assim a cobertura forestal
predominante. A Floresta Subtropical da Bacia
do Rio Uruguai, ou foresta estacional semideci-
dual, por sua vez, cobria 9.196 km
2
, perfazendo
9,6% da cobertura forestal de Santa Catarina.
Estima-se ainda em 14,4% (13.794 km
2
) a rea
de campos e em 0,6% (575 km
2
) as pores com
foresta nebular.
Da rea original de foresta ombrfla densa
restam cerca de 22% (7.000 km
2
), distribudos em
remanescentes forestais primrios ou em estgio
avanado de regenerao. A maior extenso da rea
ainda coberta por forestas no Estado representada
por fragmentos de foresta ombrfla densa.
A foresta ombrfla mista, que se constitua
na formao forestal predominante do Estado,
foi alvo de intensa e predatria explorao
madeireira, estando hoje numa situao extre-
mamente crtica. Vrios ncleos de foresta om-
brfla mista so tambm encontrados na regio
da Floresta Pluvial Atlntica, destacando-se os
ncleos situados nos municpios de Antnio
Santa Catarina
Morro Pelado, em Apiuna
Mata Cap3 01SC.indd 45 2/24/06 12:19:20 AM
46
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
Carlos, So Joo Batista, Lauro Mller, Sombrio
e Major Gercino.
A foresta ombrfla mista compe uma vegeta-
o de ocorrncia praticamente restrita regio Sul
do Brasil. Hoje seus remanescentes, extremamente
fragmentados, no perfazem 5% da rea original
segundo dados do Ministrio do Meio Ambiente
(2000), ou 3% segundo FUPEF (1978), dos quais
irrisrios 0,7% poderiam ser considerados como
reas primitivas, as chamadas matas virgens.
Mata Preta
A foresta ombrfla mista constitui um ecos-
sistema regional complexo e varivel, abrigando
muitas espcies, algumas das quais endmicas
dessa tipologia forestal. uma foresta tipicamen-
te dominada pelo pinheiro araucria (Araucaria
angustifolia), que responde por mais de 40% dos
indivduos arbreos da formao, apresentando
valores de abundncia, dominncia e freqncia
bem superiores s demais espcies componentes
dessa associao.
Mesmo as extensas reas contnuas de fo-
resta ombrfla mista eram, em alguns pontos,
interrompidas por manchas de campos naturais, os
quais se mostram como remanescentes das altera-
es climticas ocorridas durante o Quaternrio.
As matas virgens ou primitivas que consti-
tuam as grandes regies cobertas de araucria
foram chamadas por Reitz & Klein (1966) de
matas pretas. Esses autores, referindo-se distri-
buio dessa confera em Santa Catarina, assim
se expressaram:
Originalmente os pinhais mais extensos se
situavam, principalmente, no assim chamado pri-
meiro Planalto Catarinense, abrangendo as reas
compreendidas desde So Bento do Sul, Mafra,
Canoinhas e Porto Unio, avanando em sentido
sul at a Serra do Espigo e Serra da Taquara Verde,
continuando em seguida pela Serra do Irani em
sentido oeste. Em toda essa vasta rea, o pinheiro
emergia como rvore predominante, por sobre as
densas e largas copas das imbuias, formando uma
cobertura prpria e muito caracterstica. Precisa-
mente em virtude dessa cobertura densa e do verde-
escuro das copas dos pinheiros, esses bosques so
denominados pelos serranos de mata preta.
A foresta estacional semidecidual original-
mente ocupava o vale do Rio Uruguai, penetrando
profundamente pelos vales dos seus afuentes,
como os rios Canoas, Do Peixe, Rancho Grande,
Jacutinga, Engano, Irani, Chapec, So Domin-
gos, Das Antas, Iracema, Macaco Grande e Pepe-
ri-guau. Essa tipologia forestal encontra-se hoje
praticamente extinta. Alm dos fatores histricos
de presso, como explorao madeireira e agricul-
tura, mais recentemente a bacia do Rio Uruguai/
Pelotas tambm ameaada com os grandes pro-
jetos de aproveitamento hidrulico. No incio de
2005, estabeleceu-se uma intensa disputa judicial,
fgurando governo e empreendedores de um lado e
ambientalistas do outro, sendo objeto dessa dispu-
ta nada menos que 8.000 ha de forestas, uma das
derradeiras manchas de foresta ombrfla mista
e semidecidual dessa enorme bacia hidrogrfca,
e que foi simplesmente omitida nos estudos exi-
gidos para o licenciamento ambiental da Usina
Hidreltrica de Barra Grande. A barragem de 190
Pinhes: sementes de araucria
Mata Cap3 01SC.indd 46 2/24/06 12:19:23 AM
47
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
Situao atual
A situao atual da Mata Atlntica no Es-
tado pde ser verifcada atravs de um vo de
reconhecimento, realizado em maro e abril de
2001, e complementada por diversas inspees
de campo realizadas posteriormente. O trabalho
foi realizado com o intuito de verifcar o grau de
conservao de algumas importantes reas de
Mata Atlntica situada fora das unidades de con-
servao no Estado e contou com a participao
de tcnicos do Ncleo Assessor de Planejamento
da Mata Atlntica do Ministrio do Meio Am-
biente (NAPMA), do Comit Estadual da Reser-
va da Biosfera, do Ibama-DF, da Federao de
Entidades Ecologistas Catarinenses (FEEC) e da
Associao de Preservao do Meio Ambiente do
Alto Vale do Itaja (Apremavi). Na primeira etapa
do trabalho foram diagnosticadas reas situadas
no trajeto entre os municpios de Jaragu do Sul
e Abelardo Luz.
De Jaragu do Sul at as proximidades de
Ibirama, observa-se uma intensa fragmentao
da foresta ombrfla densa, predominando for-
maes secundrias nos estgios iniciais e mdios
de regenerao. Em toda extenso verifca-se uma
acentuada reduo nas atividades agrcolas, espe-
cialmente nas reas mais montanhosas, o que tem
propiciado a ampliao das reas de capoeirinhas
e capoeiras. Provavelmente em decorrncia do
fenmeno de desruralizao, constata-se tambm
que no mais persistem grandes presses sobre
as formaes forestais remanescentes. Em toda
extenso desse primeiro trecho, no foram detec-
tados desmatamentos signifcativos.
No aspecto qualitativo, contudo, a situao
preocupante, visto que as formaes forestais
secundrias mostram-se relativamente pobres,
com uma predominncia acentuada de algumas
espcies arbreas pioneiras. Em grande extenso
tambm se percebe uma vertiginosa proliferao
de algumas espcies de lianas (cips) e taquaras,
o que pode estar prejudicando sensivelmente a
continuidade e o ritmo da sucesso secundria.
Longos trechos isentos de remanescentes pri-
mrios ou em estgio avanado de regenerao,
seguramente condicionam signifcativo obstculo
recuperao e preservao da biodiversidade
original, acrescentando fatores adicionais de risco
ao processo natural de sucesso secundria.
Nas proximidades dos contrafortes da Serra
Geral, entre os municpios de Trombudo Cen-
tral, Atalanta, Agronmica, Agrolndia, Pouso
Redondo e Mirim Doce, destacam-se os campos
de cultivo agrcola. Os remanescentes forestais
igualmente mostram-se fragmentados, na maior
parte enquadrando-se nos estgios mdio e avan-
ado de regenerao, com sinais de acentuada
pobreza qualitativa. A rea em questo era ori-
ginalmente coberta pela foresta tropical do Alto
da Serra com predominncia de canela-amarela
(Nectandra lanceolata), sapopema (Sloanea
Detalhe da for da Dyckia distachya
m de altura j est edifcada, entre os municpios
de Anita Garibaldi (SC) e Pinhal da Serra (RS).
Foi emitida a Licena Ambiental de Operao, o
que viabilizou a formao do lago, inundando os
referidos fragmentos forestais e, muito possivel-
mente, decretando a extino de uma espcie da
fora brasileira ameaada de extino, a bromlia
Dychia distachya.
Mata Cap3 01SC.indd 47 2/24/06 12:19:32 AM
48
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
lasiocoma), tanheiro (Alchornea triplinervea),
taquaras (Merostachys multiramea) e cars (Chus-
quea sp.). Essa situao degradada torna-se menos
pronunciada apenas nas reas das encostas mais
ngremes, onde a vegetao apresenta-se numa
condio visivelmente melhor.
Adentrando a regio do planalto, rea coberta
originalmente pela foresta ombrfla mista, os
refexos da excessiva e irracional explorao ma-
deireira das espcies arbreas dessa tipologia so
evidentes. A fsionomia forestal predominante foi
substituda, em sua maior parte, pelas pastagens
e reforestamentos homogneos com espcies
exticas. Os raros remanescentes forestais na-
tivos so de reduzida dimenso, encontram-se
isolados e com evidentes alteraes estruturais.
A predominncia de algumas espcies heliflas
pioneiras, com aparente proliferao invasiva de
taquaras (Merostachys multiramea), e o reduzido
nmero de indivduos de Araucaria angustifolia,
praticamente restritos a exemplares isolados ou
em pequenos agrupamentos de indivduos de com-
pleio inferior, caracterizam a vegetao atual.
Somente na altura dos municpios de Ponte
Serrada e Passos Maia, ao longo da Serra do Cha-
pec, encontra-se uma mudana nesse quadro.
Aps percorrer-se uma extensa rea dominada por
plantios homogneos de Pinus elliottii (espcie
extica), encontra-se uma formao de foresta
ombrfla mista bastante signifcativa. Apesar de
no se constituir exatamente num grande fragmen-
to, aproximadamente 9.000 ha, delimitado pelos
rios Do Mato e Chapecozinho, o aspecto qualita-
tivo dessa foresta destacvel. A rea encontra-
se ainda coberta por uma verdadeira foresta de
araucria, a chamada Mata Preta, com indivduos
de acentuado vigor e distribudos em abundncia,
formando o caracterstico dossel que sombreia um
rico sub-bosque igualmente denso e diversifcado.
No contexto atual, esse remanescente forestal re-
veste-se de inestimvel valor biolgico. A crtica
situao da foresta ombrfla mista, evidenciada
em toda a sua rea de ocorrncia natural e, desta-
cadamente, a gravssima condio da araucria so
elementos que destacam a importncia de se prover
uma proteo legal efetiva para esses derradeiros
remanescentes, traduzida com a criao do Parque
Nacional das Araucrias. Avaliaes da estrutura
gentica das populaes de Araucaria angustifolia
nesses fragmentos tm mostrado elevados ndices
de endogamia e a ocorrncia de alelos exclusivos
em todos os fragmentos forestais analisados.
Borboleta: um
dos indicativos
de biodiversidade
Mata Cap3 01SC.indd 48 2/24/06 12:19:45 AM
49
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
O grau de fragmentao e degradao forestal
na maior parte da regio oeste do estado de Santa
Catarina alarmante. A dimenso dos fragmentos
remanescentes e o acentuado grau de isolamento a
que fcam submetidos conduzem, inexoravelmente,
a um processo de empobrecimento e degradao
biolgica iminente. A busca de estratgias que pos-
sam estimular os proprietrios rurais ao engajamen-
to num processo de recrutamento, enriquecimento
e conexo dos fragmentos remanescentes medida
que poderia ainda alimentar uma expectativa de mi-
tigao do grande impacto j perpetrado sobre essas
comunidades forestais. Urgente tambm se faz a
adoo de medidas visando a recomposio das
matas ciliares, formaes de relevante importncia
e que igualmente foram literalmente dizimadas.
Na poro norte do municpio de Abelardo
Luz, observa-se a ocorrncia de outra rea coberta
por foresta de araucria, contudo o sub-bosque
nessa formao j mostra sinais de intensa ativi-
dade antrpica. Outros fragmentos prximos so
igualmente relevantes, ainda que a extrao de
rvores de araucria praticamente tenha eliminado
essa espcie da foresta. Persiste o sub-bosque,
sobre o qual so claros os sinais da continuidade
do processo de explorao madeireira. Este con-
junto de fragmentos passou a compor a Estao
Ecolgica da Mata Preta. At meados de 2004, essa
explorao no poupou sequer as espcies amea-
adas de extino. Mais de 1.000.000 de rvores
de Araucaria angustifolia foram derrubadas, com
a prosaica notifcao de corte de rvore plantada
protocolada nos escritrios do Ibama. A edio da
Instruo Normativa MMA N 8, de 24 de agosto
de 2004, revogando a Instruo Normativa MMA
n 1/2001, foi comemorada pela comunidade
ambientalista de Santa Catarina. Essa medida foi
decisiva para estancar um escandaloso processo de
depredao das forestas catarinenses, promovido
por madeireiros inescrupulosos e devidamente
acomodado no atraso da burocracia estatal. Um
dos motivos da reviso na citada Instruo Nor-
mativa: uma operao do Ibama-SC detectou que
100% das reas notifcadas para corte de rvores
plantadas no apresentavam qualquer indcio de
plantio forestal.
De um modo geral, pode-se afrmar que na
maior parte do terreno situado a oeste da Serra
Geral predomina uma cobertura forestal exces-
sivamente fragmentada. Constata-se, por outro
lado, algum avano nos processos de regenerao
natural, com expanso das capoeiras, tipifcando
estgios iniciais e mdios de regenerao. Des-
tacam-se na paisagem as extensas reas cobertas
pelos plantios homogneos de essncias exticas,
notadamente Pinus sp., plantios esses que tambm
se alastram de forma vertiginosa por sobre as reas
de campos naturais. Recentemente um projeto
de lei foi apresentado na Assemblia Legislativa
procurando regulamentar o plantio de forestas
com espcies exticas no Estado. O PL foi barrado
na Comisso de Constituio e Justia e, provi-
dencialmente, arquivado. Por outro lado, o rgo
ambiental do Estado (Fatma) vem implementando
a expedio de autorizaes de corte, invaria-
velmente caracterizando as reas como detentoras
de vegetao em estgio inicial de regenerao.
Em muitas dessas reas autorizadas, a ao de
Floresta com
araucrias
em Ponte
Serrada
Mata Cap3 01SC.indd 49 2/24/06 12:20:01 AM
50
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
fscalizao do Ibama-SC tem redundado na emis-
so de autuaes, justamente pela caracterizao
distinta feita pelo rgo federal. No so poucos
os casos em que as evidncias mostram de forma
inequvoca que a vegetao representa estgios
mdios e/ou avanados de regenerao. Por conta
desses confitos, o prprio presidente da Fatma,
em junho de 2005, determinou a suspenso das
autorizaes de desmatamento.
Serra Geral
A segunda etapa do trabalho compreendeu
os deslocamentos entre So Domingos e Videira,
e posteriormente Videira e Jaragu do Sul. Nesse
trecho, destacam-se as formaes forestais junto
s encostas da Serra Geral. Nas imediaes dos
municpios de Mirim Doce e Pouso Redondo, se
encontra uma vegetao mais densa, com sinais
menores de degradao forestal. A topografa
da rea bastante acidentada, onde o Morro do
Funil, com seus 1.062 m, destaca-se na paisagem
da Serra dos Ilhus. No obstante a desfavor-
vel condio topogrfca, cicatrizes deixadas
pelas incurses para explorao madeireira so
ainda visveis por toda rea. Em alguns locais
da Serra so destacados sinais de deslizamen-
tos recentes. Apesar dos sinais de interferncia
antrpica descritos, a rea denota grande valor
biolgico e, associando-se condio adversa
do relevo, destaca-se como de alta prioridade
para conservao.
Seguindo-se na direo do municpio de
Rio do Campo, surgem estreitas plancies alu-
viares no fundo dos vales, quase todas cobertas
por cultivos de arroz. Nessa rea, nem mesmo a
faixa de mata ciliar foi preservada. Nas encostas
ngremes adjacentes, existem reas em processo
de regenerao recente, alguns poucos sinais de
derrubadas e queimadas, porm em quantidade
relativamente pequena.
Na divisa entre os municpios de Santa Te-
rezinha, Vitor Meirelles e Itaipolis, encontra-se
uma rea signifcativa de remanescentes forestais.
So aproximadamente 40.000 ha onde ocorre
a transio entre a foresta ombrfla densa e a
foresta ombrfla mista. Trata-se de um dos mais
signifcativos remanescentes forestais da regio
central de Santa Catarina. Parte da rea est co-
berta com forestas pouco alteradas e a maior parte
de forestas em estgio mdio e avanado de
regenerao, nas quais houve intensa explorao
madeireira no passado. Nessa regio, esto loca-
lizadas as nascentes do Rio Itaja do Norte, um
dos principais tributrios do Rio Itaja-Au. Esses
remanescentes forestais continuam sob amea-
a de madeireiros e da expanso de atividades
agrcolas, porm a maior ameaa manuteno
desses remanescentes a crescente expanso dos
reforestamentos com Pinus sp. Extensas reas de
remanescentes forestais esto sendo eliminadas
para abrir espao expanso dos plantios de Pinus
sp. na maioria dos casos com autorizaes de corte
emitidas pelo rgo estadual (Fatma).
Contgua rea descrita anteriormente, en-
contra-se a rea de Relevante Interesse Ecolgico
(Arie) da Serra da Abelha, onde so evidenciadas
duas situaes: uma onde h uma predominncia
de indivduos de araucria de grande porte e um
sub-bosque bastante alterado, em certos pontos
dominado por densas aglomeraes de braca-
tinga (Mimosa scabrella). Outra que mostra-se
praticamente isenta de pinheiros, porm com uma
vegetao de sub-bosque muito bem conservada,
Serra do Rio
do Rastro
Mata Cap3 01SC.indd 50 2/24/06 12:20:18 AM
51
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
com vrios indivduos de importncia econmica,
como cedros, canelas e perobas.
Um importante remanescente forestal no
municpio de Vitor Meirelles foi vistoriado,
detectando-se atividade de extrao de madeira
nos termos de plano de manejo aprovado pelo
Ibama-SC. Esse remanescente mostra-se como
uma das nicas reas da regio onde a cobertura
forestal apresenta poucos sinais de perturbao
antrpica, estando, portanto, muito prxima de
uma condio original.
Na regio da Serra da Moema, numa rea
que abriga a Reserva Indgena Duque de Ca-
xias, no municpio de Jos Boiteux, e a Reserva
Biolgica Estadual do Sassafrs, situada nos
municpios de Doutor Pedrinho e Benedito Novo,
destaca-se uma topografa bastante acidentada e
uma cobertura vegetal signifcativa, com peque-
nas pores em estgio inicial de regenerao.
No h indcios de atividade agrcola nessa rea.
No contexto regional, os 5.043 ha da Reserva
Biolgica Estadual do Sassafrs fguram como
importante refgio para proteo da fauna e da
fora, constituindo-se em valiosa reserva gen-
tica. Essa uma outra regio onde os riscos
conservao da biodiversi-
dade so imensos. O confito
gerado entre comunidades
indgenas e posseiros, bem
como a proposta de ampliao
da rea da Reserva Indgena,
configuram-se como forte
ameaa manuteno dos
fragmentos florestais rema-
nescentes na rea.
Serra do Mar
O trecho percorrido en-
tre Jaragu do Sul e Itapo,
passando pelos municpios
de Schroeder, Joinville e So Francisco do Sul,
revela uma paisagem exuberante e diversifcada,
destacando-se as escarpas da Serra do Mar que,
ao norte de Jaragu do Sul, mostra-se coberta
Cachoeira na
RPPN Batistella,
Corup
Canrio-da-terra
Mata Cap3 01SC.indd 51 2/24/06 12:20:45 AM
52
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
por uma vegetao primria bastante exuberante,
com raros sinais de interferncia antrpica. Essa
regio, pela qualidade e extenso do remanescente
forestal, pela irregularidade do relevo, bem como
pela beleza paisagstica, reveste-se de relevante
importncia para fns de conservao. Mais ao
norte, atinge-se o Morro do Quiriri, com seus
1.430,6 m de altitude, localizado no municpio de
Garuva. O Morro do Quiriri abriga uma extensa
mancha de campo de altitude. As formaes de
campos naturais, a despeito de sua consider-
vel abrangncia, j que ocupavam 13.794 km
2
,
predominantemente no planalto catarinense, so
praticamente desconhecidas e, em funo de suas
peculiaridades, abrigo certo de espcies endmi-
cas. No caso dos Campos do Quiriri, em virtude
de sua insero na foresta ombrfla densa e da
presena conjunta de manchas de foresta nebular,
condicionam a essas cristas da Serra do Mar ex-
cepcional valor biolgico, no podendo tambm
se negligenciar o singular patrimnio paisagstico
que representam.
A regio em questo ainda ricamente dre-
nada por cursos dgua, que contribuem para a sua
grande beleza cnica, acentuada pelo grau de pre-
servao das forestas adjacentes. Percorrendo-se a
calha do Rio Cubato percebe-se atributos como a
Cachoeira do Cubato, com 369 metros de queda
dgua, e a importncia da rea na conservao dos
recursos hdricos, hoje to disputados nos aglo-
merados urbanos. Um projeto de aproveitamento
hidreltrico ameaou a integridade de todo esse
patrimnio, desencadeando um intenso e exitoso
processo de mobilizao da sociedade civil em
prol da defesa da Cachoeira do Cubato.
Litoral
Na costa litornea do norte de Santa Catarina,
destaca-se a formao de foresta quaternria nas
plancies do municpio de Itapo. So reas com
forestas ainda bastante densas e ricas biologica-
mente, porm com vrios indcios de perturbao
nas suas bordas, decorrentes de inmeros pequenos
desmatamentos que so promovidos para a poste-
Ilha do Campeche Florianpolis SC
Mata Cap3 01SC.indd 52 2/24/06 12:20:54 AM
53
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
rior ocupao imobiliria. Itapo, So Francisco do
Sul e Joinville abrigam a Baa da Babitonga, em
cujas margens desenvolvem-se grandes reas de
manguezais e forestas quaternrias. Desnecessrio
discorrer sobre a importncia e valor biolgico
dessas reas, contudo vale ressaltar a boa condi-
o de preservao atual de vrios remanescentes
dessas formaes e o elevado grau de presso a
que esto sujeitas, notadamente pela proximidade a
grandes ncleos urbanos. Uma rea com restingas
bem preservadas no municpio de So Francisco
do Sul, recentemente recebeu proteo legal com
a criao do Parque Estadual do Acara.
Em todo o litoral catarinense, a presso exer-
cida sobre os ecossistemas associados da Mata
Atlntica enorme, notadamente aquela decor-
rente da especulao imobiliria e da expanso
do tecido urbano. Essa presso sensivelmente
superior quela relativa expanso de atividades
agropecurias, no podendo ser subestimada
quando da adoo de polticas pblicas voltadas
conservao da Mata Atlntica. Infelizmente, no
plano legislativo, arrasta-se h anos a discusso do
projeto de lei referente ao Plano Estadual de Ge-
renciamento Costeiro. A morosidade na adoo de
um regramento legal, que possibilitasse uma efe-
tiva orientao na ocupao das reas litorneas,
refete a carncia de motivao dos legisladores
catarinenses na busca do aprimoramento de uma
poltica estadual de meio ambiente condizente
com os rumos da modernidade.
Ao sul de Blumenau e nos municpios de
Gaspar e Brusque, encontramos a Serra do Itaja,
uma das reas de foresta ombrfla densa mais
bem conservadas do Estado. Trata-se de uma
rea com grande importncia biolgica e refgio
da fauna e da fora. A rea abriga centenas de
nascentes e um dos seus destaques o morro
do Spitskopf. Na regio, quase no se pratica
agricultura e as principais formas de presso
sobre a foresta so a especulao imobiliria e
expanso urbana. Desde 4 de junho de 2004, data
de publicao do decreto presidencial que criou
o Parque Nacional da Serra do Itaja, 57.374 ha
desse importante fragmento de Mata Atlntica
recebe proteo legal, inserindo-se no Sistema
Nacional de Unidades de Conservao (Snuc). O
Parque Nacional da Serra do Itaja protege pores
do territrio dos municpios de Ascurra, Apina,
Blumenau, Botuver, Gaspar, Guabiruba, Indaial,
Presidente Nereu e Vidal Ramos.
Nessa mesma regio, mais precisamente no
municpio de Apina, registra-se uma emblem-
tica e sria ameaa biodiversidade brasileira.
Trata-se da proposta de construo da Usina
Hidreltrica Salto Pilo. Os estudos relativos
ao processo de licenciamento ambiental da obra
simplesmente omitiram a ocorrncia de um gnero
mono-especfco endmico, um arbusto que se
desenvolve nas margens do Rio Itaja-au, desig-
nado cientifcamente como Raulinoa echinata e
popularmente conhecido como cutia-de-espinho
ou sarandi. No obstante as inmeras manifesta-
es das entidades ambientalistas, e at mesmo
do Comit Estadual e do Presidente do Conselho
Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atln-
tica, o rgo executivo do Sistema Nacional de
Meio Ambiente (Sisnama) no Estado (Fatma),
sem qualquer estudo que avaliasse o impacto da
obra sobre a populao dessa espcie, emitiu a
Licena Ambiental de Instalao. No obstante
ser o Estado brasileiro signatrio da Conveno
da Diversidade Biolgica e a clara caracterizao
da supresso do princpio da precauo, alm
rea de
restinga em
Navegantes
Mata Cap3 01SC.indd 53 2/24/06 12:20:57 AM
54
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
do licenciamento ambiental, os empreendedo-
res conseguiram ainda a aprovao junto ao
BNDES do fnanciamento de cerca de 50% do
valor necessrio para a execuo das obras de
implantao da usina de Salto Pilo.
Na regio de Florianpolis, destaca-se o
Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Maior
parque do Estado, com 86 mil hectares, conserva
diversifcadas formaes forestais e ecossistemas
associados da Mata Atlntica. Na Ilha de Santa
Catarina, o declnio das atividades agrcolas pro-
piciou a regenerao natural de amplas reas de
encostas, contudo o turismo desordenado e a es-
peculao imobiliria condicionam forte presso
sobre os ecossistemas de restingas e manguezais.
A defcincia na fscalizao ambiental tama-
nha que at mesmo no interior das unidades de
conservao so registrados casos de depredao
da natureza. O Parque Municipal da Lagoa do
Peri j perdeu praticamente toda a populao
de palmiteiros (Euterpe edulis) em decorrncia
da extrao clandestina. O Parque das Dunas da
Lagoa da Conceio, um dos cartes postais da
Ilha de Santa Catarina, foi seriamente comprome-
tido pela contaminao
do Pinus elliottii. At
mesmo projeto de lei
transformando parte de
unidade de conservao
(Parque Estadual da Serra
do Tabuleiro) em reas
residenciais foi apresen-
tado na egrgia Cmara
de Vereadores de Floria-
npolis. Aps denncia
de entidades ambientalis-
tas, a interveno do Mi-
nistrio Pblico Estadual
garantiu o arquivamento
do anmalo PL.
No extremo sul de Santa Catarina, junto aos
Aparados da Serra Geral, observa-se ainda uma ve-
getao caracterstica, denominada foresta nebular.
Junto das encostas da Serra Geral, a foresta ombr-
fla densa ainda persiste com destacvel exuberncia,
pelo menos at a altura do Rio Me Luzia. Nas reas
originalmente cobertas pela Floresta Tropical das
Plancies Quaternrias e vegetao litornea, con-
tudo, a devastao quase total. A histrica presso
ambiental decorrente da atividade carbonfera, res-
ponsvel por um dos maiores passivos ambientais da
Amrica Latina, ainda uma constante. Minsculos
fragmentos da vegetao original mesclam uma
matriz altamente antropizada, caracterizada por uma
extensiva rea com cultivos de arroz e, em menor
escala, de bananeiras. Registra-se que praticamente
todo o litoral sul de Santa Catarina encontra-se in-
serido nos limites da rea de Proteo Ambiental
(APA) da Baleia-Franca, o que, por outro lado, no
alterou o grave quadro de degradao decorrente
da especulao imobiliria, do turismo desregrado,
da pesca predatria, da rizicultura, minerao, entre
tantas outras atividades erguidas em bases ecolgicas
sabidamente insustentveis.
Lagoa da Conceio, em Florianpolis
Mata Cap3 01SC.indd 54 2/24/06 12:21:01 AM
55
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
Remanescentes
comprometidos
Das anlises realizadas, destaca-se por um
lado reduo dos processos de desmatamento. Os
casos detectados se referem a reas de reduzida
extenso e cobertas por vegetao secundria em
estgio mdio de regenerao. Constata-se tam-
bm que, excetuando-se as reas do planalto, oeste
e plancies do extremo sul, nas demais regies visi-
tadas existe um claro sinal de reduo das ativida-
des agrcolas. A associao desses fenmenos por
certo estar condicionando uma possvel evoluo
positiva na recuperao da cobertura forestal do
Estado. Por outro lado, destaca-se uma acentuada
perda qualitativa nas forestas catarinenses. A
riqueza de espcies est seriamente comprome-
tida, o que denota a urgncia na reviso da lista
ofcial de espcies da fora brasileira ameaadas
de extino. Muitas espcies, outrora abundantes
nas matas catarinenses,
j fguram como espcies
raras e algumas tantas
sequer so encontradas
em muitas dessas reas
em regenerao. Adi-
cionalmente, ressalta-se
que mesmo o processo de
regenerao natural das
florestas pode ficar se-
riamente comprometido,
em funo do reduzido
nmero de fragmentos
forestais primrios e/ou
em estgios avanados de
regenerao e o compro-
metedor isolamento dos
mesmos.
Nesse contexto, a
explorao de espcies
madeireiras de elevado
valor comercial, como
o caso da araucria, canela preta, sassafrs,
imbua, peroba, cedro e angico, por exemplo,
defagra uma incomensurvel ameaa integri-
dade desses ltimos remanescentes, bem como
pode estar, sob vrios aspectos, inviabilizando
as dinmicas envolvidas no processo de suces-
so e regenerao natural das forestas degrada-
das nos seus arredores. No obstante a situao
crtica dessas espcies forestais, notadamen-
te aquelas oficialmente reconhecidas como
ameaadas de extino, o processo de extrao
seletiva de madeiras nobres continua em curso
no Estado, como foi possvel observar nas fo-
restas dos municpios de Vitor Meirelles, gua
Doce, Ponte Serrada, Passos Maia, Abelardo
Luz, Lebon Rgis, Matos Costa, Canoinhas,
Calmon, entre outros.
Mesmo com a edio da Resoluo Conama
278/2001, restringindo a explorao madeireira
Aspecto dos remanescentes forestais s margens do Rio Uruguai, no sudeste de SC, na
divisa com o RS
Mata Cap3 01SC.indd 55 2/24/06 12:21:16 AM
56
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
de espcies ameaadas de extino nos rema-
nescentes forestais da Mata Atlntica, em Santa
Catarina foram detectados diversos estratagemas
para viabilizar a continuidade desse processo:
explorao de rvores mortas ou cadas, corte de
rvores plantadas, autorizaes de corte sob
pretexto de tratar-se de reas com vegetao em
estgio inicial so alguns exemplos. tambm
notrio no Estado a carncia estrutural dos rgos
executivos do Sisnama, comprometendo signifca-
tivamente as aes de fscalizao. Nesse quadro,
o grau de aes clandestinas, desmatando-se reas
sem a devida licena ou extrapolando em muito os
limites licenciados, quase a regra no Estado. A
enorme presso relativa abertura de novas reas
para expanso dos cultivos de Pinus sp., em muito
tem impulsionado tais prticas. Em alguns casos
nem mesmo o aproveitamento do material lenhoso
feito. Possivelmente como uma estratgia para
reduzir riscos de fagrante de crime ambiental,
no raro, mesmo madeiras valiosas como as da
araucria e da imbuia so simplesmente queima-
das aps o corte.
Historicamente, a extrao seletiva de
espcies forestais nobres no Estado de Santa
Catarina foi realizada de forma predatria,
muito acima da capacidade de auto-regenerao
Agricultura familiar no Vale do Itaja
Bugio
Mata Cap3 01SC.indd 56 2/24/06 12:21:35 AM
57
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
dessas espcies. Como resultado dessa explo-
rao, est em curso um processo acentuado de
eroso gentica, principalmente daquelas que j
constam da lista de espcies da fora ameaadas
de extino.
Torna-se urgente a realizao de um levan-
tamento preciso da situao atual das forestas
naturais e a adoo de efetiva proteo das reas
prioritrias para conservao forestal, associan-
do uma reviso na poltica agrcola, visando no
apenas fxar o homem no campo, mas fundamen-
talmente difundir tecnologias menos agressivas,
inserir atividades agroforestais sustentveis, com-
patveis com uma poltica de preservao forestal.
Faz-se urgente tambm a adoo de medidas para
resgatar e resguardar o patrimnio gentico das
espcies madeireiras que hoje se encontram sob
forte ameaa de extino.
Sabe-se que vrias populaes geneticamente
diversas so necessrias para assegurar a persistn-
cia de uma espcie e, no contexto atual, oportuno
mencionar a observao do professor Paul Ehrlich:
A causa bsica da decomposio da diversidade
orgnica no a explorao ou a maldade hu-
mana, mas a destruio de habitats que resulta
da expanso das populaes humanas e de suas
atividades. No momento em que se reconhece que
um organismo est em perigo de extino, geral-
mente j tarde demais para salv-lo.
Joo de Deus Medeiros bilogo, doutor em
Botnica, professor adjunto no Departamento
de Botnica da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC).
Araucria na regio serrana
PROJETOS EM SC: pgs. 252 e 268
BIBLIOGRAFIA: pg. 315
AMEAAS EM SC: pgs. 199, 201, 209,
211, 214, 215, 219 e 224
A REDE NO ESTADO: pg. 302
Mata Cap3 01SC.indd 57 2/24/06 12:21:47 AM
58
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
n
t
i
c
a
Paran
Ofcialmente o Paran possui hoje uma extenso
de 199.729 km
2
, dos quais 84,7%, ou 169.197
km
2
, estavam originalmente cobertos pela Mata
Atlntica. O restante do territrio era composto
originalmente por formaes campestres, man-
chas de Cerrado e algumas tipologias de vege-
tao da faixa litornea.
A primeira cobertura vegetal do Estado cons-
tava das seguintes formaes forsticas: mata
pluvial tropical-subtropical; mata de araucria
nos planaltos e na regio da mata subtropical
acima de 500 m, campos limpos e campos cer-
rados (estepes de gramneas baixas); vegetao
das vrzeas e pntanos; vegetao das praias,
ilhas, restinga e vegetaes altas da serra; e
reas de baas com faixas de mangue. Da super-
fcie aproximada de 201.203 km
2
, a mata cobria
168.482 km
2
, incluindo-se as orlas de mangue
das baas, as matas subxerftas de restinga da
zona litornea e as faixas de mata de neblina da
Serra do Mar, alm da mata pluvial-subtropical
e da mata de araucria nos planaltos e na regio
da mata subtropical acima de 500 m de altitude.
Portanto, nesse levantamento as forestas, leia-se
Mata Atlntica propriamente dita, cobriam cerca
de 83,74% do territrio do Estado. Nota-se uma
diferena em relao aos dados ofciais atuais,
gerada por diferenas metodolgicas de mapea-
mento. Porm, o importante a se destacar que
cerca de 84% do territrio do Paran era origi-
nalmente coberto por formaes forestais, todas
elas enquadradas no que se chama de Domnio
da Mata Atlntica.
No sistema de classifcao fsionmico-
ecolgico desenvolvido pelo projeto RADAM-
BRASIL, que o sistema ofcial de classifcao
da vegetao brasileira, essas formaes vegetais
encontradas no Paran foram denominadas de es-
tepe (Campos Gerais), savana (Cerrados), foresta
ombrfla mista (Floresta com Araucria), foresta
ombrfla densa e a foresta estacional semideci-
dual (Floresta Pluvial Tropical-Subtropical).
Do litoral do Estado em direo a oeste, so
defnidas trs grandes unidades ftogeogrfcas,
Araucria, rvore
smbolo do Paran
Mata Cap3 02PR.indd 58 2/23/06 10:51:50 PM
59
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
n
t
i
c
a
conforme as seguintes caractersticas ambientais:
a leste, ocorre, a Serra do Mar, que constitui uma
barreira natural para os ventos que sopram do
Oceano Atlntico, carregando umidade e nutrien-
tes. A umidade dos ventos do mar se condensa na
vertente da serra, que atinge altitudes entre 1.000
e 1.400 metros em mdia, formando uma neblina
alta e conseqentemente acmulo de umidade,
proporcionando a existncia de chuvas bem distri-
budas ao longo do ano. Esto includas nessa re-
gio as formaes vegetais da plancie litornea e
da encosta da Serra do Mar, constituindo a foresta
ombrfla densa e ecossistemas associados.
Ao ultrapassar a serra na direo oeste, no
planalto do Estado (altitudes variando entre 600
e 1.200 m), situa-se a regio de ocorrncia da
foresta com araucria. Nessa regio, as chuvas
tambm so bem distribudas ao longo do ano,
mas com mdias de temperatura mais baixa e
ocorrncia regular de geadas, o que permite uma
srie de modifcaes tanto na composio das
forestas como no seu funcionamento.
Nas regies norte e oeste do Estado e nos vales
dos rios formadores da bacia do Rio Paran, abaixo
de 600 m de altitude, localiza-se a regio da foresta
estacional semidecidual, onde as mdias de tem-
peratura so mais altas e com um perodo de baixa
precipitao pluviomtrica, o que proporciona em
certos perodos uma queda acentuada de folhas de
algumas espcies arbreas. Nessa regio, a presen-
a de solos mais frteis infuencia sobremaneira a
composio e estrutura das forestas.
Cabe salientar que essas trs situaes carac-
terizam formaes ftogeogrfcas distintas. A va-
riao local do tipo de solo proporciona diferenas
expressivas na estrutura e composio forstica de
uma determinada foresta em uma mesma regio
ftogeogrfca. Por exemplo, em uma determinada
regio da foresta com araucria, em local com
solo profundo e frtil, tm-se uma foresta com
altura atingindo at 25 metros, com predomnio
de determinadas espcies, e a 5 km de distncia,
uma foresta de at 15 metros com outras espcies
predominantes e de menor porte, sendo essas dife-
renas no relacionadas interveno do homem
e sim s condies do solo.
Processos de retirada da
cobertura vegetal
O processo de degradao dos ambientes na-
turais ocorreu na direo do litoral para o oeste do
Estado. No litoral, a primeira ao que impactou
Fazenda Capo
Alto, em Castro
Mata Cap3 02PR.indd 59 2/23/06 10:51:53 PM
60
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
n
t
i
c
a
os ambientes naturais foi a minerao, realizada
na maior parte dos rios da regio nos sculos
XVII e XVIII. Em paralelo e depois do trmino
dessa atividade, iniciou-se nos rios navegveis
uma segunda fase de degradao. Esses rios,
alm de proporcionar o escoamento da produo,
possuam plancies com solos mais frteis, aptas
implantao de reas agrcolas. Concomitante
a essas atividades, ocorreu a intensa extrao
de madeira. Esse processo foi se intensifcando,
com o aumento da populao desde o perodo da
minerao, fazendo com que atualmente as reas
de plancie prximas aos grandes rios e o incio
das encostas sejam as reas mais degradadas.
A evoluo da degradao no litoral se deparou
com duas barreiras. A primeira foi o solo arenoso
da plancie sedimentado no perodo Quaternrio,
prximo ao Oceano, que no apto agricultura.
A segunda foi a Serra do Mar, devido sua encosta
ngreme de difcil acesso e manuseio da terra.
Ao ultrapassar a Serra do Mar com a cons-
truo de acessos do planalto ao litoral, principal-
mente depois da construo da estrada de ferro
(1885) e da estrada da Graciosa (1873), iniciou-se
a explorao madeireira, culminando com a inten-
sa atividade agropecuria
e mais tarde com o refo-
restamento de exticas,
passando por diferentes
ciclos econmicos. Esse
processo primeiro ocorreu
na poro leste do planalto,
prximo a Curitiba, alcan-
ando gradativamente as
pores centrais do Estado
e sucessivamente o norte,
noroeste e oeste, resultando
em uma intensa degradao
ambiental, maior do que a
ocorrida no litoral. As re-
gies de solos mais frteis
e planas foram as mais intensamente degradadas
e que primitivamente possuam as forestas mais
exuberantes e de maior diversidade, no exis-
tindo mais remanescentes signifcativos dessas
forestas.
As avaliaes do processo da retirada da
cobertura forestal, at 1960, so todas baseadas
nas estimativas realizadas por Maack, a partir de
1930. Segundo suas palavras nossos levantamen-
tos, desde o incio da colonizao do Paran at o
ano de 1930, isto , num espao aproximado de
35 anos, foram desmatados apenas 38.800 km
2
atravs de queima e aproveitamento de madeira.
At 1955, portanto, num perodo de 25 anos, fo-
ram destrudos 98.688 km
2
e, de 1955 at 1960,
mais 13.500 km
2
. Os dados para o quinqunio de
1961 a 1965 so incertos, em virtude da falta de
novos levantamentos exatos e do grande incndio
forestal de 1963. Dos primitivos 167.824 km
2
de
mata virgem foram derrubados 119.688 km
2
de
mata pluvial tropical-subtropical at 1965, sendo
79.888 km
2
destrudos nos ltimos 30 anos. Em
uma avaliao do IBGE (1984), em 1980 resta-
vam 34.134 km
2
de forestas nativas incluindo
capoeiras e capoeires.
Pico do
Paran
Mata Cap3 02PR.indd 60 2/23/06 10:52:07 PM
61
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
n
t
i
c
a
Gubert Filho (1988), com base nos dados
de Maack (1968) e Dillewijn (1966), fez alguns
mapas hipotticos sobre a evoluo dos rema-
nescentes forestais no Paran. Iniciando pela
cobertura primitiva a partir de 1890, seguido dos
de 1930 (cobertura de 64,1% da rea primitiva),
1937 (58,7%), 1950 (39,7%), 1965 (23,9%), 1980
(11,9%) e 1990 (5,2%). Esse ltimo valor baseado
em estimativas do autor.
Em levantamento realizado pela SOS Mata
Atlntica & INPE (2001), restavam no ano 2000,
no Paran, 15.943 km
2
(7,98%) de cobertura
forestal, mapeando forestas em bom estado de
conservao e forestas secundrias. Esses mapea-
mentos foram muito importantes na quantifcao
da retirada da cobertura forestal do Estado, sendo
uma ferramenta que o poder pblico poderia ter
utilizado para gerir o uso do solo adequadamente,
levando em considerao a conservao ambien-
tal. Infelizmente tal ao no foi concretizada.
Com o desenvolvimento das novas tecnologias
de mapeamento, foi possvel incorporar a avaliao
da qualidade ambiental dessas forestas, atravs da
defnio de estgios sucessionais, correspondentes ao
nvel de degradao, ou mesmo da defnio do que
considerada formao forestal ou no. Essas informa-
es so de extrema importncia para a conservao
da biodiversidade, j que possibilitam uma viso mais
detalhada da matriz forestal distribuda na paisagem,
sendo uma ferramenta a ser utilizada para que a gesto
de uma determinada rea resulte em conservao da
biodiversidade e mesmo para uma maior produtivida-
de dos sistemas agropecurios e forestais.
A ausncia de informaes mais precisas sobre
o estado de conservao dos diferentes biomas inse-
ridos em territrio paranaense historicamente serviu
para a manuteno de sua explorao desregrada e
inconseqente. Mesmo que ainda estejamos vivendo
um perodo de presses fortes em todas as regies
do Estado, incluindo o litoral e a encosta da Serra do
Mar, degradadas pela caa e pela retirada seletiva de
espcies da fora, hoje dispem-se de ferramentas
bastante precisas para se monitorar a condio de
manuteno de reas naturais ainda remanescentes.
Cachoeira em Prudentpolis
Mata Cap3 02PR.indd 61 2/23/06 10:52:16 PM
62
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
n
t
i
c
a
Um exemplo de esforo nesse sentido foi o
estudo realizado com apoio do Ministrio do Meio
Ambiente e da Fundao de Pesquisa e Estudos
Florestais ligada Universidade Federal do Para-
n (UFPr). Completado em 2001, esse trabalho,
pela primeira vez, indicou com detalhes a discri-
minao dos ambientes de foresta com araucria
ainda remanescentes no Paran, ressaltando-se a
constatao de que no mais do que 0,8% de reas
da foresta ombrfla mista, originalmente formado
por oito milhes de hectares, ainda perduravam no
estgio avanado de conservao. Essa informao
foi fundamental para incentivar esforos para que
medidas concretas fossem tomadas pela sociedade
para que essas reas, j muito pouco representati-
vas, no fossem completamente destrudas.
Tipologias forestais e sua
situao atual
Essas novas ferramentas de mapeamento, no
Paran, foram utilizadas para mapear a foresta
ombrfla mista e a foresta ombrfla densa. O
governo lanou o Atlas da Vegetao do Paran e
o Sistema de Informaes Ambientais (SIA) em
2002, contando tambm com o mapeamento da
foresta estacional. Esse material foi divulgado via
internet no site da Secretaria Estadual do Meio
Ambiente (Sema) por um pequeno perodo, mas
atualmente no est disponvel.
A seguir ser descrita a situao dessas dife-
rentes formaes ftogeogrfcas, com base nesses
mapeamentos.
Floresta ombrfla densa
Essa regio a de ocorrncia fitogeogrfi-
ca da floresta ombrfila densa (FOD) e de seus
ecossistemas associados, contemplando mais
especificamente a Serra do Mar, toda a plancie
litornea (incluindo as ilhas interiores) e parte
do Vale do Rio Ribeira. Na poro ocidental da
Serra do Mar, encontra-se a rea de transio
(ectono) com a floresta ombrfila mista. Nes-
sa regio, esto localizados os remanescentes
mais bem conservados e contnuos da Mata
Atlntica no Brasil.
Do oceano em direo ao planalto temos a
plancie litornea. Os antigos vales e enseadas
foram preenchidos por sedimentao marinha e
terrestre, formando terraos em diversos nveis.
O relevo suave, com pequenas ondulaes e
altitudes a alguns metros acima do nvel do mar,
correspondendo a cerca de 2.299 km
2
, ou cerca
de 1,15 % da rea total do Estado.
A Serra do Mar constituda por um
conjunto de blocos altos e baixos em macios
diversos, os quais recebem diferentes deno-
minaes locais. Ela se encontra na borda do
planalto, com um desnvel mais acentuado do
lado do oceano do que para o lado continen-
tal. O relevo bastante acidentado, com vales
profundos, estreitos e vertentes rochosas muito
ngremes. Os cursos dgua principais esto
encaixados em linhas de falha e de fraturas,
desembocando no Oceano Atlntico. Sua rea
total de 6.558 km
2
, ou cerca de 3,28 % da
rea do Estado.
Quaresmeiras na Serra do Mar
Mata Cap3 02PR.indd 62 2/23/06 10:52:31 PM
63
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
n
t
i
c
a
Na plancie litornea, com
solos arenosos de origem marinha,
a formao vegetal a foresta om-
brfla densa das terras baixas, que
apresenta duas fsionomias distintas
conforme o nvel do lenol fretico.
As reas com solos de drenagem de-
fciente, nas fases mais evoludas, so
caracterizadas pelo predomnio do
guanandi (Callophyllum brasiliense)
- madeira com troncos grossos e retos
bastante utilizada na construo do
porto de Paranagu - formando o
estrato arbreo superior contnuo com 25 metros
de altura. Mesclada a essa foresta mais alta, nos
solos com melhor drenagem (mais secos) ocorre
uma foresta menos desenvolvida com alturas que
podem atingir de 8 a 15 metros, onde so tpicas a
cupiva (Tapirira guianensis), a canelinha (Ocotea
pulchella), dentre outras.
Essas duas tipologias forestais apresentam
uma rea total no Estado de 277 e 395 km
2
, res-
pectivamente.
De forma geral, essas formaes esto bem
conservadas, sofrendo forte presso nas reas em
contato com os centros urbanos, principalmente
os da regio sul do Estado, na extenso corres-
pondente aos municpios de Pontal do Paran a
Guaratuba, onde a especulao imobiliria exerce
forte presso a remanescentes forestais signifca-
tivos e importantes, degradando essas reas con-
tinuamente. Nas outras regies, ocorrem algumas
alteraes pontuais em funo da agropecuria.
Essas forestas so protegidas por algumas unida-
des de conservao importantes como o Parque
Nacional do Superagui, a Estao Ecolgica da
Ilha do Mel, a Estao Ecolgica do Guaraguau
e a Floresta Estadual do Palmito.
Ainda na plancie, no mesmo substrato da
formao anterior, com solos mais bem drenados,
tem-se as reas da formao pioneira com infun-
cia marinha. Da mesma forma que a FOD de terras
baixas, sofre intensa presso antrpica relativa
especulao imobiliria, haja vista que ela vai
ocorrer em uma rea de 107 km
2
em toda orla do
litoral paranaense. Essa tipologia vegetal tambm
denominada restinga. Esse termo originalmente
utilizado pela geomorfologia para referir-se aos
depsitos praiais relativamente recentes e cordes
arenosos subseqentes. Essa pode ser subdividida
em duas ftofsionomias: a arbrea e a herbceo-
arbustiva. A primeira composta por formaes
que atingem de 3 a 10 metros de altura, ocorrendo
preferencialmente nas partes altas dos cordes
litorneos, com solos de drenagem rpida e lenol
fretico mais profundo. Uma espcie caracterstica
desta formao o ara (Psidium cattleyanum).
A formao herbcea arbustiva pode ser fa-
cilmente reconhecida na regio prxima praia,
onde a vegetao desempenha papel importante
no processo de estabilizao da areia contra a
ao do vento, espalhando-se sobre o cho (esto-
lonferas). J nas dunas mais antigas, mais acima
da praia, ocorrem arbustos baixos e ramifcados
atingindo alturas de at 3 metros, recebendo uma
forte infuncia do impacto da areia carregada pelo
vento, o que proporciona uma forma caracterstica
vegetao, dando a impresso de que os arbustos
foram penteados pelo vento.
Imbuias em Turvo
Mata Cap3 02PR.indd 63 2/24/06 12:45:36 AM
64
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
n
t
i
c
a
Em muitas situaes, algumas caractersti-
cas peculiares podem ser visualizadas tanto na
formao arbrea como na herbcea arbustiva,
dentre elas, a existncia de epftas (plantas que
utilizam as rvores como substrato), que com
freqncia cobrem quase inteiramente alguns
indivduos, e o recobrimento total do solo por
uma variedade de plantas herbceas. Nos dois
casos, espcies de bromeliceas, orqudeas,
pteridftas (samambaias) e outras, devido a suas
formas, fores e tipo de agrupamentos, propor-
cionam uma variedade de composies cnicas
muito belas.
Com influncia direta das mars, ocorrem
as formaes pioneiras com influncia fluvio-
marinha, tambm subdividida em duas fitofi-
sionomias: os campos salinos e os manguezais,
ocupando respectivamente 58 e 235 km
2
do
litoral paranaense. O primeiro corresponde
vegetao encontrada na orla das baas e
margens dos rios, de porte herbcea/arbustivo,
tambm denominada de marismas ou praturs.
caracterizada pela cobertura quase contnua
de gramneas que atingem aproximadamente 1
metro de altura. J os manguezais so caracte-
rizados por uma vegetao arbrea que pode
atingir at 8 metros de altura com apenas trs
espcies arbreas dominantes: mangue-ver-
melho (Rhyzophora mangle), mangue-branco
(Laguncularia racemosa) e mangue-siriba
(Avicennia schaueriana).
Os marismas e manguezais exportam bio-
massa para o esturio e o ambiente marinho prxi-
mo costa, incrementando a produo pesqueira.
Servem de abrigo para uma variedade de espcies
da fauna, inclusive espcies de alto valor comer-
cial. local de reproduo e refgio para as crias
de espcies migratrias ocenicas e marinhas que
necessitam de habitat pouco profundo e protegido,
alm de estabilizar as margens costeiras e estua-
rinas, protegendo-as contra a eroso.
Os manguezais no apresentam supresso de
vegetao signifcativa, ocorrendo impacto ainda
no mensurado quando da extrao seletiva de
madeira e da fauna, ou ainda quando da modif-
cao de correntes ou processos de sedimentao
marinha oriundos de alguma obra realizada pelo
homem (como dragagens, construo de barreiras
de conteno e outros).
As formaes pioneiras com influncia
fuvial so comunidades vegetais ocorrentes em
locais que refetem processos de cheias de rios
em pocas chuvosas ou ento em depresses ala-
gveis. Essa formao no exclusiva da plancie
litornea, ocorre em todas as reas do Estado que
apresentem essas condies. Tambm subdivi-
dida em tipologias com predomnio de espcies
herbceas at 1 metro de altura e arbreas at 6
metros de altura.
Nas formaes herbceas facilmente reco-
nhecida a taboa (Typha domingensis), cosmopolita
das regies tropicais e subtropicais. J nas forma-
es mais desenvolvidas de porte arbreo, geral-
mente densas, h o predomnio de poucas espcies
arbreas. Nessas situaes so comuns os caxetais
da plancie litornea, onde domina a caxeta (Tabe-
buia cassinoides). A caxeta uma rvore utilizada
para diversos fns, inclusive fabricao de lpis e
artesanato, por ser bastante leve. A espcie j foi
bastante explorada no litoral paranaense.
Manguezal
Mata Cap3 02PR.indd 64 2/23/06 10:52:41 PM
65
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
n
t
i
c
a
Na plancie litornea, considera-se como
ambientes relativamente bem conservados apenas
aqueles ocupados por formaes pioneiras (man-
guezais, restingas e vrzeas) e foresta ombrfla
densa de terras baixas com alterao mais drstica
de aproximadamente 18% da formao original.
Desse percentual, a maior parte est concentrada
nas reas urbanas (7,4%), representadas princi-
palmente pelos balnerios que margeiam o litoral
desde Paranagu at o sul do Estado.
Outra importante formao ocorrente nas
plancies j margeando as encostas a foresta om-
brfla densa aluvial, que compreende as formaes
forestais distribudas sobre as plancies aluviais dos
grandes rios que desguam no litoral paranaense,
estando, portanto, sujeitas a um determinado grau
de hidromorfa. Predominam forestas secundrias
que podem atingir 20 metros de altura com intenso
epiftismo, tendo como espcies arbreas caracte-
rsticas o leiteiro (Sapium glandulatum), os tapis
(Alchornea triplinervia e Alchornea sidifolia), a
fgueira-mata-pau (Coussapoa microcarpa) e o
jacatava (Citharexylum mirianthum).
Historicamente, a ocupao da regio litor-
nea deu-se nas proximidades dos rios, resultando
na quase total transformao desses ambientes,
onde atualmente predominam atividades agro-
pecurias. Restam atualmente apenas 7,8 km
2
de forestas de uma rea original de 30,4 km
2
.
Isso representa apenas 26% da formao origi-
nal, existindo muito poucos remanescentes de
foresta primria, a maior parte j com um nvel
elevado de degradao. a formao vegetal
mais degradada do litoral paranaense e a que tem
menos representatividade em termos de unidades
de conservao.
Serra do Mar
As formaes forestais distribudas sobre
o incio das encostas da Serra do Mar recebem a
denominao de foresta ombrfla densa submon-
tana, sendo delimitada pelas pores da encosta
a partir de 10 m, at altitudes em torno de 600 m.
a formao que apresenta maior diversidade
vegetal, resultante da melhor drenagem de seus
solos e do regime climtico predominante, com
chuvas abundantes e distribudas ao longo do ano,
e da ausncia de baixas trmicas invernais (gea-
das). Essas caractersticas, contudo, associadas a
declividades menos acentuadas, favoreceram a
antropizao, resultando em um denso mosaico de
fases secundrias da sucesso vegetal, entremeado
a atividades agropecurias, notadamente cultivos
de subsistncia (roas).
So dominantes nas formaes ainda bem
conservadas rvores de grande porte (at 30 m
de altura), como bocuva (Virola bicuhyba), cedro
(Cedrela fssilis), canjerana (Cabralea canjerana),
dentre muitas outras. Abaixo dessas, o destaque
a presena de queima-casa (Bathysa meridiona-
lis), com suas grandes folhas de mais de 1 metro
de comprimento, que chama a ateno para quem
adentra no interior da foresta submontana, junta-
mente com palmiteiro (Euterpe edulis).
Tatu
Mata Cap3 02PR.indd 65 2/23/06 10:52:53 PM
66
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
n
t
i
c
a
O palmiteiro na condio natural e em deter-
minados locais representava mais de 50% do total
de indivduos arbreos da foresta. Para a fauna,
seus frutos so de extrema importncia servindo de
alimento para uma variedade de espcies, muitas
dependendo deles para sua sobrevivncia. Enquan-
to existiam estoques na foresta ele foi um produto
de exportao, aps a extrao desordenada deixou
de ser economicamente vivel, visto que acabaram
os estoques. A extrao irracional foi to drstica
que no se deixam indivduos que possam produzir
frutos para sua reproduo natural. Tcnicas de
manejo de forma que possa se conciliar a extrao
para fns econmicos e com insignifcante impacto
ambiental foram desenvolvidas, mas por uma va-
riedade de razes na esfera das polticas pblicas
estaduais, no podem ser aplicadas.
A FOD submontana corresponde formao
mais extensa da poro litornea, com 3.567 Km
2
, com cerca de 50% correspondendo a reas j
alteradas, sendo 24% com foresta em estgio m-
dio de sucesso e 26% em uso com agropecuria,
reforestamento ou em reas urbanas.
A foresta ombrfla densa montana compre-
ende as formaes forestais distribudas sobre
as encostas da Serra do Mar, em altitudes que
variam entre 600 e 1200 m, e no vale do Rio Ri-
beira em altitudes acima de 600 m. Na sua poro
ocidental, apresenta altas declividades, sendo
comum os aforamentos de rocha, alm das altas
pluviosidades, proporcionando escorrimentos
de massa constantes. Dessa forma, desenvolve-
se uma foresta de altura que varia de 5 a 20
metros, conforme a declividade do terreno. Sua
extenso original de aproximadamente 2.917
Km
2
. Apresenta 53% de suas forestas alteradas,
a maior parte na poro ocidental da encosta, de-
vido facilidade de acesso pelo planalto, sendo
que 26% apresentam um nvel de recuperao
adiantado (estgio mdio de sucesso). Uma das
pores mais degradadas localiza-se na regio
montanhosa do Aungui e no vale do Rio Ribeira,
na regio norte da Serra do Mar, onde tambm os
reforestamentos com exticas contribuem com
um percentual de 6,5% da retirada da cobertura
original.
Palmito-juara na foresta ombrfla densa
Mata Cap3 02PR.indd 66 2/23/06 10:52:55 PM
67
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
n
t
i
c
a
Dando continuidade a esse gradiente vegeta-
cional, nas pores mais elevadas da Serra do Mar,
em mdia acima de 1.200 m, ocorre a foresta om-
brfla densa altomontana, confrontando com as
formaes campestres e rupestres das cimeiras das
serras (refgios vegetacionais). So constitudas
por associaes arbreas de porte reduzido (3 a 7
metros de altura), devido a condicionantes clim-
ticas (baixas temperaturas, ventos fortes e cons-
tantes, elevada nebulosidade) e de solos (rasos ou
com acmulo de matria orgnica), denominadas
regionalmente de matinhas nebulares.
Nessas situaes, so tpicas espcies arbreas
de pequeno porte bastante retorcidas, em muitos
casos com folhas de pequeno tamanho, como a
cana-da-serra (Ilex microdonta), guamirim (Si-
phoneugenia reitzii) e a gramimunha (Weinmannia
humilis). Nesse ambiente, reduz-se o epiftismo
com bromlias e orqudeas, aumentando a ocorrn-
cia de musgos e hepticas. Essa formao apresenta
uma extenso aproximada de 58 Km
2
. As alteraes
atualmente encontradas so relativas ao uso do
fogo e pastoreio, o que indica uma extenso da rea
original um pouco maior que a atual.
Situadas acima do limite da foresta ombrfla
densa altomontana ou a ela entremeada ocorrem
formaes campestres (campos de altitude) denomi-
nados de reas de refgios vegetacionais. Constitui a
vegetao das serras mais altas, geralmente acima de
1.200 m, e ainda a vegetao dos aforamentos rocho-
sos (vegetao rupestre) dos topos das montanhas.
Ao longo da borda do primeiro planalto em
contato com a vertente oeste da Serra do Mar (entre
850 e 1.000 m) e no vale do Rio Ribeira (poro
norte da serra), no contato com a rea montanhosa
da srie Assungui, no mesmo patamar altimtrico,
encontra-se a regio de transio (ectono) entre a
foresta ombrfla mista e foresta ombrfla densa.
Embora muito descaracterizada por antropismos,
a presena do pinheiro-do-paran associado a
espcies tpicas da foresta atlntica, mesmo que
secundrias, caracteriza uma zona ecotonal.
Bromlia
Mata Cap3 02PR.indd 67 2/23/06 10:52:57 PM
68
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
n
t
i
c
a
Algumas espcies so indicadoras dessa re-
gio transicional, como a queima-casa (Bathysa
meridionalis) e guapeva (Pouteria torta), indi-
cando a infuncia da foresta ombrfla densa, e
pinho-bravo (Podocarpus lambertii), vassouro-
preto (Vernonia discolor), bracatinga (Mimosa
scabrella) e a prpria Araucaria angustifolia,
indicando a infuncia da fora da foresta om-
brfla mista.
Floresta ombrfla mista
Defne-se como rea de abrangncia da fo-
resta com araucria as reas de ocorrncia natural
do pinheiro-do-paran (Araucaria angustifolia).
Essa espcie ocorre em uma regio de clima plu-
vial subtropical, em altitudes que vo de 500 a
1.200 m, principalmente nos
estados do Paran, Santa Ca-
tarina e Rio Grande do Sul. O
termo foresta ombrfla mista
vem da mistura de duas foras
distintas. Essa mistura ocorre
devido a condies peculiares
observadas no Planalto Meri-
dional Brasileiro, associados
latitude e s altitudes pla-
nlticas.
No Paran, a regio das
araucrias principia no pri-
meiro planalto, imediatamen-
te a oeste da Serra do Mar,
distribuindo-se no primeiro,
segundo e terceiro planaltos.
Ela tambm ocorre na regio
dos campos na forma de
capes ou no vale dos rios.
A caracterstica bsica da f-
tofsionomia da foresta com
araucria o fato de o pinhei-
ro formar o andar superior da
foresta. Em alguns casos, a
cobertura to densa que, observando-se de cima,
parece que a foresta constituda s de pinheiros.
Porm, essas forestas no so uniformes, junto
da araucria esto associadas uma srie de outras
espcies, variando de acordo com as diferentes
condies de solo e microclimticas locais.
Os levantamentos realizados pela equipe do
Radam-Brasil dividem a foresta ombrfla mista
em trs formaes. A primeira relacionada ao
substrato onde ocorre a presena de solos aluviais
a foresta ombrfla mista aluvial e, as demais,
em funo das altitudes: a foresta ombrfla mista
montana, com altitudes de 400 a 1.000 metros
e a alto-montana, com altitudes acima de 1.000
metros. Destacam-se ainda os contatos entre a
floresta ombrfila mista, a floresta ombrfila
Regio
de
Palmas
Foto: Joo de Deus Medeiros
Mata Cap3 02PR.indd 68 2/23/06 10:52:58 PM
69
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
n
t
i
c
a
densa e foresta estacional semidecidual. A fora
arbrea da foresta ombrfla mista composta por
aproximadamente 352 espcies, das quais 13,3%
so exclusivas, 45,7% ocorrem preferencialmente,
enquanto 41,0% so preferenciais e caractersticas
de outras regies ftoecolgicas.
Floresta ombrfla mista
aluvial
A foresta ombrfla mista aluvial (FOM),
tambm chamada forestas ciliares ou fo-
restas de galeria, se desenvolve s margens
de rios em terrenos planos. Estas suportam as
freqentes inundaes do rio e podem chegar at
15 metros de altura. Em reas com solos muito
midos, ocorrem comunidades homogneas,
sem o pinheiro estar presente, onde Sebastiania
commersoniana (branquilho) a espcie predo-
minante. medida que a infuncia da gua vai
diminuindo, o pinheiro vai tendo participao
mais expressiva.
H situaes na foresta ombrfla densa
(FOD), onde j no mais rea de ocorrncia
do pinheiro, em que surgem agrupamentos dessa
espcie, em reas alagadas margem de rios. Tal
fato pode ser observado na margem da BR-116
na divisa com o Estado de So Paulo ou mes-
mo no Parque Estadual das Laurceas. Nesse
caso, a araucria se refugiou nos solos midos,
caso contrrio no sobreviveria imponncia
da FOD. Nesses solos mais midos, o pinheiro
apresenta menor porte com alturas que variam
de 6 a 15 metros.
A FOM aluvial est associada a ambientes
campestres importantes em termos de composi-
o forstica, que so os campos de inundao
(vrzeas) e lagoas, muitas vezes originadas de
meandros abandonados dos rios. Essa importn-
cia est relacionada alta diversidade forstica e
ocorrncia de muitas espcies que s ocorrem
nesses ambientes, faltando estudos mais porme-
norizados para avaliar espcies em extino que
possam ocorrer nessa situao. Alia-se o fato que
muitas dessas reas j tenham sido degradadas,
restando muito poucos remanescentes, que esto
sob forte ameaa. So formaes importantes para
a conservao das forestas e vrzeas das bacias
dos rios Iguau e Tibagi.
Aranha colorida encontrada nos campos de Palmas
Mata Cap3 02PR.indd 69 2/23/06 10:53:00 PM
70
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
n
t
i
c
a
Em Fupef (2004), a rea de ocorrncia da
Araucaria angustifolia foi subdividida em quatro
regies: o ectono com a foresta estacional semi-
decidual, a regio dos campos, o ectono com a
foresta atlntica e a foresta com araucria (core).
Diviso baseada principalmente em aspectos fo-
rsticos, mas tambm relacionada ftofsionomia,
estrutura da foresta, clima e geologia.
Ectono com a foresta
estacional semidecidual
Essa regio da FOM caracteriza-se por uma
fora onde a maior parte das espcies so da fo-
resta estacional, na presena do pinheiro-do-pa-
ran, bem como por uma diviso climtica onde a
foresta com araucria (core) ocorre pelo sistema
de classifcao de Koeppen na zona temperada
sempre mida e o ectono com a foresta estacio-
nal semidecidual, na zona subtropical mida.
Na faixa que vai de Sengs a Tibagi, a regio
dos campos delimita essas duas unidades. De for-
ma similar, mas menos acentuada, ocorre com os
campos de Guarapuava. Nessas duas situaes, as
serras atingem altitudes superiores a 1.100 metros,
servindo como barreira. Os vales dos grandes rios,
Iguau, Tibagi, Iva e Piquiri tambm permitem
que a Floresta Estacional Semidecidual adentre
para o interior da foresta com araucria.
Dentro da regio de ectono existe uma grada-
o em termos de composio forstica e estrutura
da foresta, da foresta estacional semidecidual em
direo ao core da araucria. Na poro mais prxi-
ma da foresta estacional semidecidual, a presena do
pinheiro atualmente espordica, tambm no ocor-
rendo sua regenerao. Isso vai de encontro ao que
salienta Klein (1960) que, no clima atual, a foresta
estacional est se ampliando em direo foresta
com araucria. Antes da intensa extrao do pinheiro
e dos desmatamentos ocorridos nessa regio, nos
ltimos 50 anos, provavelmente o pinheiro aparecia
acompanhando as espcies emergentes da foresta
estacional semidecidual, como perobas e angicos,
atingindo alturas de 30 a 40 metros. Atualmente
no existe nenhum remanescente que retrate essa
situao, apenas relatos de pessoas que descrevem
saudosamente a exuberncia dessas forestas.
Em relatos da populao que vive na regio, a
ocorrncia natural dos pinheiros em maior densidade
era em solos mais pobres, provavelmente em funo
de no poder competir com as espcies da foresta
estacional semidecidual nos solos mais frteis.
medida que se aproxima da regio cen-
tral de ocorrncia da foresta com araucria, a
composio forstica (estrutura e densidade de
pinheiros) vai se modifcando gradativamente,
com cada vez menos infuncia das espcies da
foresta estacional semidecidual e um aumento do
predomnio do pinheiro.
Essa regio ecotonal apresenta a menor co-
bertura forestal no Estado, devido a uma intensa
atividade agropecuria, conseqncia de solos mais
frteis e menor incidncia de geadas. Quando o rele-
vo plano ou levemente ondulado, permite-se uma
intensa mecanizao agravando essa situao. Mas
mesmo em terrenos mais ondulados, como na bacia
de alguns rios, a cobertura forestal exgua.
Nessa regio, ocorrem alguns remanescentes
representativos em termos de rea, dentre eles, no
municpio de Tuneiras do Oeste, noroeste do Esta-
do, a poro norte do Parque Nacional do Iguau,
o Parque Estadual do Rio Guarani, alguns rema-
nescentes no municpio de Roncador e as reservas
indgenas do Rio das Cobras e Mangueirinha. Um
dos remanescentes, h poucos anos considerado
um dos dois mais representativos em termos de
foresta com araucria, ocorria na rea da empresa
Araupel, no municpio de Rio Bonito do Iguau,
mas devido a um assentamento do Movimento
dos Trabalhadores Sem Terra (MST), a foresta
foi retirada.
Mata Cap3 02PR.indd 70 2/23/06 10:53:00 PM
71
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
n
t
i
c
a
Campos
J nas demais regies, a foresta ombrfla
mista ocupa o campo em pequenos fragmentos
de foresta de forma circular, chamados de ca-
pes. Em termos estruturais, normalmente no
apresentam alturas elevadas, com os pinheiros
maiores atingindo no mximo 15 a 18 metros, em
funo das condies pedolgicas (solos rasos). A
formao forestal acompanhante vem logo abai-
xo, atingindo alturas de, em mdia, at 8 metros,
com rvores bastante ramifcadas. A composio
forstica semelhante da foresta com araucria,
mas com densidade maior de algumas espcies,
principalmente da famlia das mirtceas, tendo
uma diversidade forstica mais baixa em relao
s demais em solos mais frteis.
Ectono com a foresta
atlntica
A regio de ectono com a foresta atlntica
bem menos extensa, tendo como limite ao leste
o contraforte da Serra do Mar at a cota entre
900 e 1.000 metros de altitude, ao norte a bacia
do Rio Ribeira e a oeste uma pequena faixa onde
podem ser encontrados elementos forsticos da
foresta atlntica. A poro maior desse ectono
representada pela entrada da bacia do Rio Ribeira,
mas que ocorre em uma regio onde a cobertura
forestal em sua maior parte j foi retirada e o
que resta est bastante degradada, alm da pre-
sena de grandes macios de reforestamentos
com pinus.
Situaes particulares ocorrem no contato
com a foresta atlntica nas altitudes mais eleva-
das, onde em solos orgnicos o pinheiro apresenta
pequeno porte, associado a espcies caractersti-
cas de formaes alto montanas, com predomnio
das canas (Ilex spp.) e mirtceas.
Floresta com araucria (core)
A regio da foresta com araucria (core)
bem delimitada por um clima temperado em
funo das altitudes mais elevadas. O clima mais
frio, com ocorrncia de geadas, infuencia no fun-
cionamento dessas forestas e refete, por exemplo,
na queda total de folhas de boa parte das espcies
aps o perodo mais frio. Esse e outros fenmenos
so seletivos para algumas espcies nessa foresta,
que se adaptaram a essas condies.
nessa regio que se concentra a maior
cobertura florestal da floresta com araucria,
principalmente na poro centro sul do Estado,
Regio
litornea
Mata Cap3 02PR.indd 71 2/23/06 10:53:14 PM
72
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
n
t
i
c
a
onde se encontram os municpios de Bituruna,
General Carneiro, Coronel Domingos Soares,
Porto Vitria, Unio da Vitria, Cruz Machado,
Incio Martins, parte de Pinho, Guarapuava e
Turvo, esses ltimos acompanhando a Serra da
Esperana. Outra regio com uma cobertura fo-
restal signifcativa a que acompanha a Escarpa
Devoniana no Primeiro Planalto, sendo que nessa
predominam as formaes em estgio inicial. A
concentrao de remanescentes de maior extenso
nessa regio tem como fator principal a presena
de solos rasos de baixa fertilidade, portanto no
propensos agricultura, o que permitiu maior
concentrao de fragmentos de maior extenso.
Da mesma forma que as forestas que ocorrem
prximas aos Campos de Palmas, em solos com
esta caracterstica, a foresta possui uma estrutura
menos desenvolvida e menor nmero de espcies.
Por outro lado, a existncia de um contnuo fo-
restal permite maior diversidade da fauna.
Nessa regio, comum observar-se foresta
com a presena quase exclusiva do pinheiro, com
poucas espcies regenerando em seu interior, devi-
do presena de taquarais. Isso se deve ao fato do
pinheiro ocorrer em grande quantidade na regenera-
o das reas que foram alteradas, ou por extrao
seletiva de madeira ou pelo fogo. Nas manchas de
solo mais profundo, os poucos remanescentes que
restaram apresentam a araucria em associao
com a imbuia (Ocotea porosa), com uma estrutura
e composio de espcies mais desenvolvidas.
Floresta estacional
semidecidual
A Floresta Estacional Semidecidual est
restrita s pores oeste, noroeste e norte do Pa-
ran, correspondendo ao Baixo Iguau e parte da
bacia do Rio Paran, ao sul do divisor de guas
Iva-Piquiri. Essa formao vegetal sul-brasileira
estende-se ainda at o Rio Grande do Sul, na Bacia
do Rio Uruguai, chegando a atingir a Argentina
e o Paraguai.
Essa formao relaciona-se em toda a sua
rea de ocorrncia a um clima com duas esta-
es defnidas, uma chuvosa e outra seca. Tal
caracterstica climtica um dos fatores deter-
minantes de uma forte estacionalidade foliar dos
elementos arbreos dominantes, como resposta
ao perodo de defcincia hdrica. uma foresta
constituda por rvores emergentes que atingem
entre 25 a 30 m de altura, sem formar cobertura
superior contnua. Seus troncos so grossos e
alongados, encimados por copa larga. As espcies
mais importantes desse estrato da foresta so a
peroba (Aspidosperma polyneuron), a maria-
preta (Diatenopterix sorbifolia), a grpia (Apuleia
leiocarpa), o alecrim (Holocalyx balansae) e o
pau-marfm (Balfourodendron riedelianum).
Algumas dessas espcies perdem totalmente
suas folhas durante o inverno, quando se torna
visvel um segundo estrato arbreo, mais denso
e pereniflio, com altura entre 15 e 20 m, forma-
do principalmente por laurceas, dentre as quais
destacam-se a canela-preta (Nectandra megapo-
tamica), a canela-imbuia (Ocotea dyospirifolia),
dentre outras.
A cobertura forestal da foresta estacional
semidecidual foi praticamente dizimada, restando
como remanescente signifcativo apenas o Parque
Nacional do Iguau, com 185.262 ha, mesclado
com um pequeno trecho de foresta com araucria.
As forestas esto extremamente fragmentadas
com remanescentes de tamanhos exguos e ex-
tremamente degradados.
Concluses
A situao da Mata Atlntica no Paran
crtica principalmente nas regies de ocorrncia
da foresta com araucria e foresta estacional
semidecidual.
Outro agravante a inexistncia de unidades
de conservao que preservem remanescentes fo-
Mata Cap3 02PR.indd 72 2/23/06 10:53:14 PM
73
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
n
t
i
c
a
Situao da foresta com araucria
restais importantes, com reas representativas nas
diferentes situaes ambientais que ocorrem no
Estado. Embora o estabelecimento de unidades de
conservao seja uma ferramenta importante para
a conservao ambiental, no totalmente efeti-
va. Ilhas isoladas com unidades de conservao
no so ideais. Enquanto no for implementada
uma poltica regional coordenada pelo governo,
em conjunto com instituies governamentais e
no-governamentais, setor produtivo e principal-
mente a populao local, a conservao desses
ecossistemas no vai ser efcaz. necessrio o
planejamento da paisagem, estabelecendo um
zoneamento contemplando reas de preservao
e outras com diferentes nveis de manejo, alm
da restaurao de forestas e estabelecimento de
corredores de ligao entre fragmentos.
Em funo da pulverizao dessas ltimas
reas remanescentes por boa parte de sua rea
de distribuio original, no ser apenas com a
criao de pontos de conservao com base no
poder pblico que se ter uma estratgia de su-
cesso para a manuteno e restaurao de reas
representativas do bioma.
A criao de instrumentos inovadores nos
quais a iniciativa privada possa ser diretamente
envolvida uma demanda agregada criao
de unidades de conservao pblicas. Tanto a
ampliao do nmero de Reservas Particulares
do Patrimnio Natural (RPPNs) como a reali-
zao de acordos entre empresas e proprietrios
de reas em estgio avanado de conservao,
idealmente apoiados pelos governos na forma
de incentivos ou instrumentos similares, refe-
tem necessidade de estratgias geis, de curto
prazo, que promovam o incio de uma cultura
conservacionista entre os ltimos proprietrios e
o restante da sociedade paranaense. No h mais
tempo disponvel para aes de menor efeito e
fora de uma estratgia tecnicamente balizada de
conservao da biodiversidade.
Portanto, uma ao coordenada entre o
Estado e a sociedade visando a conservao dos
ltimos ambientes bem conservados se faz pre-
mente. Vrias reunies tcnicas, mobilizaes de
setores da sociedade civil e de governo foram rea-
lizadas na ltima dcada, sem resultado. Medidas
imediatas devem ser implementadas com a tutela
das estncias dos governos municipal, estadual e
federal. Esse um desafo para a sociedade, a qual,
ainda que tenha destrudo a natureza sob bandeira
de abrir as frentes do desenvolvimento, capaz
de apresentar resultados concretos que assegurem
uma poro ainda signifcativa desse patrimnio,
que de todos ns.
Parque
Nacional do
Iguau
Mata Cap3 02PR.indd 73 2/23/06 10:53:29 PM
74
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
Situao da foresta com araucria
Ao considerar-se a foresta com arau-
cria em todas as suas situaes, alm do
desaparecimento de pinheirais, com a impo-
nncia de pinheiros e canelas que atingiam
de 30 a 40 metros de altura, associados a
uma rica fora e fauna, outro aspecto de gran-
de impacto a fragmentao do habitat, ou
seja, ambientes naturais que eram contnuos
tornaram-se paisagens semelhantes a um
mosaico, composto por manchas isoladas de
sua rea original. Tal situao traz como con-
seqncia, alm da perda de habitat, reduo
e isolamento de populaes de espcies sel-
vagens, difcultando o fuxo gnico, podendo
causar perda da biodiversidade e a extino
de espcies, alm de muitas outras conse-
qncias negativas, como o distrbio do re-
gime dos rios das bacias hidrogrfcas.
Um trabalho de mapeamento da fores-
ta com araucria levantou a situao atual
dessas forestas tanto em termos de rea
como de qualidade. Nesse estudo, com base
em imagens de satlite de 1998, foram con-
siderados alm das forestas ocorrentes na
rea exclusiva da araucria (8.295.750 ha),
tambm as forestas localizadas na regio
dos campos (3.293.389 ha), totalizando uma
rea estudada de cerca de 11.589.138 ha, ou
seja, 58% da rea total do Estado.
Em termos de remanescentes forestais
nativos, foram detectados 2.506.485 ha, ou
seja, 30.22% da rea do bioma e 12,54% da
rea do Estado. Na regio de ocorrncia dos
campos, as forestas nativas ocupam uma
rea de 234.748 ha (7,12% da rea total
dos campos). A rea de reforestamento foi
quantifcada em 552.973 ha, 2,77% da rea
do Estado.
Foram classifcadas cinco tipologias fores-
tais, ou seja: forestas em estgio inicial, mdio e
avanado de sucesso, representando, respec-
tivamente, as forestas nativas de menor para
maior biodiversidade, e reforestamentos.
As forestas em estgio inicial de su-
cesso, que compreendem, por exemplo, os
bracatingais mais desenvolvidos, capoeires
e forestas que foram intensamente explora-
Muda de araucria
Mata Cap3 02PR.indd 74 2/23/06 10:53:31 PM
75
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
das, totalizaram na foresta com araucria
1.164.425 ha (14,04% da rea do bioma), e
nos campos, 140.392 ha (4,26%).
Embora de menor diversidade forstica,
a composio de espcies arbreas, com
dimetros a altura do peito maior que 5 cm,
pode variar de 20 a 60 espcies/ha, muitas
vezes com predomnio expressivo de meia
dzia de espcies, mas com uma regenera-
o intensa de outras espcies.
As forestas em estgio mdio de su-
cesso apresentam uma srie de situaes
distintas, desde reas abandonadas e no
degradadas durante um perodo de mais de
40 anos, em franco processo de recupera-
o, ou forestas bem desenvolvidas, onde
houve uma degradao intensa, mas ainda
guardando uma certa diversidade forstica e
de formas de vida, ou ainda, locais onde as
forestas so bosqueadas para criao de
gado ou produo de erva-mate, que natu-
ralmente possuam uma diversidade maior,
mas com o manejo ocorreu a seleo de
algumas espcies.
Essas totalizaram 1.200.168 ha na
foresta com araucria (14,47% da rea do
bioma), e nos campos, 84.057 ha (2,55%).
Apresentam uma estrutura mais desenvolvi-
da que as forestas em estgio inicial, com r-
vores de maior porte, um aumento do nmero
de formas de vida (herbceas, arbustivas e
epftas) e um nmero de espcies arbreas
entre 40 a 90 por hectare.
As forestas em estgio avanado, que
representam as forestas de maior diversida-
de, correspondem a apenas 0,8% da rea
Mata do Uru, Lapa. Floresta preservada com o apoio do Grupo Positivo
F
o
t
o
:
Z
o
g
K
o
c
h
Mata Cap3 02PR.indd 75 2/23/06 10:53:34 PM
76
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
total da foresta com araucria (66.109 ha)
e, nos campos a 0,24% (7.888 ha). Nessas
florestas, alm da presena de espcies
dos outros estgios sucessionais, ocorrem
espcies exclusivas e uma maior diversida-
de de formas de vida. O sub-bosque mais
desenvolvido e apresenta um nmero mais
elevado de espcies herbceas, arbustivas e
arvoretas. O porte das rvores maior, com
uma estratifcao da foresta mais visvel, e
possui diferenas em nveis de degradao,
visto que grande parte j sofreu algum tipo de
interveno antrpica, ou ainda, est sujeita a
intempries naturais, como o vento, ou reas
declivosas, onde o substrato instvel. Infeliz-
mente, essas forestas de extrema importn-
cia so as que vm sendo mais impactadas
com a retirada seletiva de madeira ou mesmo
com a retirada total da foresta.
No inventrio florestal nacional, h
mais de 20 anos atrs, em 1984, o Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal
(IBDF) detectou que existia apenas 0,66%
de foresta com araucria intocada ou em
estgio primrio. Comparando-se essa in-
formao com os mapeamentos da Fupef
(2001 e 2004), que detectou apenas 0,8%
das forestas em estgio avanado, pode-se
fazer uma avaliao histrica da reduo da
cobertura forestal no Paran e inferir que,
certamente, no h mais remanescentes de
Floresta com Araucria primria. Os poucos
e dispersos fragmentos de foresta em es-
tgio avanado de regenerao esto em
franco processo de desaparecimento.
As principais ameaas aos remanes-
centes forestais so: a extrao de madeira,
a supresso da foresta via queimadas, a
substituio da cobertura forestal nativa por
reforestamento de exticas, presso urbana e
ocupao de terras por movimento sociais.
As instituies nacionais e internacio-
nais, pesquisadores e ambientalistas alertam
h dcadas sobre a descaracterizao para
no dizer a quase destruio da foresta
com araucria no Brasil. At o momento,
nada de efetivo foi realizado para reverter
essa drstica situao, de modo que continua
ocorrendo impunemente a degradao de um
recurso natural que impulsionou a economia
paranaense durante dcadas.
PROJETOS NO PR: pgs. 236, 250 e
261
BIBLIOGRAFIA: pg. 315
AMEAAS NO PR: pgs. 199, 201, 211,
219 e 224
A REDE NO ESTADO: pg. 296
Andr Rocha Ferretti, Clvis Ricardo
Schrappe Borges e Ricardo Miranda de
Britez so da Sociedade de Pesquisa em Vida
Selvagem e Educao Ambiental (SPVS)
Mata Cap3 02PR.indd 76 2/23/06 10:53:34 PM
77
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
So Paulo
Com mais de 80% de seu territrio coberto por
forestas em 1500, o Estado de So Paulo tem
sua histria ambiental marcada por diferentes
nveis de ameaa aos ecossistemas originais da
Mata Atlntica. Em quatro sculos de explorao
econmica, o Estado teve sua cobertura fores-
tal reduzida drasticamente para a ocupao por
monoculturas agrcolas, principalmente com o
desmatamento para implantao do caf. Ainda
assim, at 1920 mais da metade do territrio es-
tava coberto por forestas nativas. Foi em meio
sculo de industrializao que a devastao da
Mata Atlntica atingiu os nveis mais alarmantes,
quando, em 1973, a foresta primitiva reduziu-se
a 8,75% do seu territrio, ou cerca de 2 milhes
de hectares, concentrados quase exclusivamente
na Serra do Mar.
Em 2002, levantamento do Instituto Florestal,
rgo de pesquisa e administrao das unidades
de conservao do Estado, realizado com base
em imagens de satlite, que detectam fragmentos
superiores a quatro hectares, revelou uma reverso
sutil na perda de vegetao. Os dados mostraram
que em uma dcada houve aumento de 2% na
rea de vegetao em So Paulo. Mesmo assim, o
aumento no foi global e ocorreu principalmente
em regies de Mata Atlntica do Vale do Paraba
e do Litoral, onde o projeto de recuperao da
mata incrementou a fscalizao e a infra-estrutu-
ra em unidades de conservao. O estudo levou
publicao, em 2005, do Inventrio Florestal
da Vegetao Natural do Estado de So Paulo,
mostrando que a superfcie coberta por forestas
naturais passaram a representar 13,94% do terri-
trio do Estado, o equivalente a 3.457.301 hecta-
res. O levantamento das forestas naturais cuja
conceituao inclui os diferentes tipos de forestas
tropicais, matas de araucria e matas de galeria
foi feito com base nas 11 regies administrativas
que cobrem os 645 municpios do Estado. Nessa
anlise, as maiores concentraes de vegetao
natural ocorreram na regio de Sorocaba e Litoral.
J a comparao com dados do levantamento an-
terior (1990-92), mostrou acrscimo de vegetao
Campos do Jordo
Mata Cap3 03SP.indd 77 2/23/06 10:56:27 PM
78
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
nas seguintes regies: Vale do Paraba, Litoral, So
Paulo, Presidente Prudente e Ribeiro Preto. De
outro lado, a diminuio da rea natural continua
mais signifcativa nas regies de Araatuba, So
Jos do Rio Preto, Bauru, Marlia e Campinas.
Ao contrrio das perspectivas de regenerao
da mata em reas localizadas, os desmatamentos,
incndios, caa e trfco de espcies permanecem
como os grandes problemas no resolvidos do
Estado que implicam na reduo direta da bio-
diversidade da Mata Atlntica. Mesmo os dados
apresentados pelo Instituto Florestal esto sendo
questionados pela Fundao SOS Mata Atlntica,
que realiza desde 1985 o Atlas dos Remanescentes
Florestais da Mata Atlntica. Segundo a ONG, o
levantamento do IF leva em considerao apenas
os acrscimos, deixando de lado os desmatamen-
tos, que aconteceram praticamente na mesma pro-
poro no perodo analisado. Os atuais fragmentos
mostram-se insufcientes para a manuteno da
biodiversidade, conforme o grau de fragmentao
da paisagem conduz a situaes limites relativas
ao isolamento das ltimas populaes de fauna
e fora, empobrecimento gentico e crescentes
efeitos de borda sobre os remanescentes.
Histria de explorao
As atividades humanas que levaram a Mata
Atlntica paulista a tal situao de ameaa dizem
respeito explorao madeireira, ao crescimento
urbano desordenado, aos avanos agrcolas e
industrializao. A histria do importante papel
do Estado no cenrio nacional comea a ser con-
tada com a introduo da cultura cafeeira em So
Paulo, em fns do sculo XVIII. Inicialmente a
monocultura do caf se desloca do Rio de Janeiro
para o Vale do Paraba e posteriormente para o
oeste paulista. E a produo paulista que corres-
pondia a 16% do total nacional em 1870, sobe
para 40% j em fns do mesmo sculo. A prpria
populao da capital d uma idia desse cresci-
mento: dos 70 mil habitantes de 1890, passou-se
a 239 mil em 1900, 587 mil em 1920 e 1 milho
e 300 mil em 1940.
Bromlia
Mata Cap3 03SP.indd 78 2/23/06 10:56:29 PM
79
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
Outro fator que marca a expanso econmi-
ca no Estado relaciona-se ao desenvolvimento
ferrovirio, com a construo da primeira estrada
de ferro entre Rio de Janeiro e Cachoeira ainda em
1855. A partir da segunda linha, a Santos-Jundia,
que ligava o porto ao planalto, inaugurada em
1867, a rede se expande para vrias direes depois
de Jundia e passa conquista efetiva do interior
paulista. As linhas mais representativas do Estado
foram a Estrada de Ferro Paulista, inaugurada em
1872, e as estradas de ferro Mogiana e Sorocabana,
de 1875.
Ao mesmo tempo em que expandiram as
fronteiras econmicas, essas vias de desbrava-
mento promoveram intensa destruio da foresta,
em funo da abertura de lavouras e do abasteci-
mento das fornalhas das locomotivas. Uma nica
ferrovia consumia 500 metros cbicos de madeira
por dia, o equivalente destruio de dois hectares
de mata. s estradas de ferro estiveram ligados
ainda os fuxos de migrao, fazendo com que
caf, populao, ferrovias e devastao ambiental
passassem a caminhar juntos.
J no fnal do sculo XIX, o Estado tenta bar-
rar a devastao por meio dos primeiros estmulos
ao reforestamento, quando as espcies exticas,
por suas caractersticas rsticas e precoces, passam
a ocupar o lugar das rvores nativas. O desenvol-
vimento do setor no deixa de representar, assim,
os mesmos inconvenientes que qualquer outra
monocultura. At 1958, o plantio realizado por par-
ticulares e empresas como a Companhia Paulista
de Estradas de Ferro, recebe assistncia tcnica do
Estado mas, a partir desse ano, o governo assume
ento a atividade de reforestamento extensivo e
passa a funcionar como plo irradiador da ativi-
dade. Em comum com a agricultura e a pecuria,
grandes macios forestais contnuos implicam
na eliminao da diversidade biolgica e na ho-
mogeneizao do meio. Um Decreto-lei de 1974,
que condicionava o mdulo mnimo de plantio
a 1 mil hectares, estimula ainda mais o modelo
concentrador da economia forestal no Estado. Por
fm, a expanso do plantio de exticas ocorre entre
as dcadas de 1970 e 1980, com a introduo de
incentivos fscais ao reforestamento.
A ausncia de preocupao com os impactos
ambientais comeou a promover a interiorizao
industrial, atraindo as fbricas para onde havia
estoque de matria-prima. Como contribuio
para o desenvolvimento econmico do interior,
o Programa Nacional do lcool (Pr-lcool),
lanado pelo governo federal na dcada de 1970,
tambm aumenta a velocidade da mudana dos
Borboleta
em for-de-
cera
Mata Cap3 03SP.indd 79 2/23/06 10:56:31 PM
80
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
usos tradicionais da terra em estados como So
Paulo, onde se concentravam as tecnologias mais
avanadas para o cultivo da cana, os principais
complexos da indstria alcooleira e um dos maio-
res mercados consumidores dos veculos produ-
zidos pelas multinacionais instaladas no Pas. O
avano da fronteira agrcola coloca-se mais uma
vez como causa dos graves impactos ecolgicos
aos remanescentes de Mata Atlntica.
Polticas de proteo ambiental
Em contraponto s atividades econmicas
que no consideram a conservao do meio
ambiente, o Estado j havia iniciado algumas
aes para a preservao de seus recursos na-
turais em 1896. O ano marcou a desapropriao
do Engenho da Pedra Branca para a instalao
do Horto Botnico (hoje Parque Estadual Al-
berto Lfgren, nome dado em homenagem ao
seu primeiro diretor), localizado no municpio
de So Paulo, que foi a base para a criao do
Servio Florestal do Estado em 1911, atual
Instituto Florestal.
As dcadas de 1950 e 1960 trouxeram ex-
pressivo incremento para a proteo do patrim-
nio natural de So Paulo, com a incorporao de
vrios parques e reservas forestais. Em 1977, o
Instituto Florestal, aliado a ambientalistas, con-
seguiu a decretao do Parque Estadual da Serra
do Mar, maior unidade de conservao do Estado,
com 315 mil hectares protegendo as matas midas
de encosta, ou seja, a foresta ombrfla densa. Em
oposio conservao do litoral, as reas de mata
de interior, ou foresta estacional semidecidual,
surgem como as mais fragmentadas e ameaadas
do Estado, estando protegidas essencialmente pelo
Parque Estadual do Morro do Diabo, com 36 mil
hectares no Pontal do Paranapanema, no extremo
oeste de So Paulo.
Nos ltimos 25 anos, So Paulo conseguiu
signifcativo avano no incremento da preserva-
o dos diferentes ecossistemas do seu territrio,
protegendo cerca de 10% da natureza paulista
na forma de unidades de conservao. Entre as
ftofsionomias da Mata Atlntica do Estado, en-
contram-se desde a foresta densa e as capoeiras,
at as reas de restinga, de vegetao de vrzea
e manguezais, onde as guas dos rios e do mar
se misturam.
O perfil dessas fitofisionomias pode ser
melhor conhecido por suas prprias peculiari-
dades ecolgicas. Dominada inteiramente por
rvores, de estrutura complexa e grande rique-
za de espcies, as matas costumam apresentar
trs estados distintos: o estrato superior pouco
denso, formado por indivduos de 15 a 20 me-
tros de altura; o estrato intermedirio, com alta
densidade, constitudo por indivduos de 10 a
15 metros com copas mais fechadas; e o estrato
inferior composto por ervas e arbustos de at trs
metros de altura.
J a capoeira, caracteriza-se como a vegetao
secundria que sucede a derrubada das forestas,
contendo indivduos lenhosos de segundo cresci-
mento da foresta anterior e espcies espontneas
que invadem as reas devastadas, apresentando de
porte arbustivo at arbreo, porm com rvores
fnas e compactamente dispostas.
Quilombo de
Ivaporunduva,
em Eldorado
Mata Cap3 03SP.indd 80 2/23/06 10:56:47 PM
81
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
A vegetao de vrzea, em geral, a for-
mao ribeirinha ou foresta ciliar que ocorre
ao longo dos cursos dgua, apresentando um
dossel emergente uniforme, estrato dominado e
submata. Tambm prximo aos cursos dgua, o
mangue a ftofsionomia de ambiente salobre,
situado na desembocadura de rios e regatos de
mar, onde nos solos limosos cresce uma ve-
getao especializada e adaptada salinidade
das guas. Por fm, tem destaque a restinga,
como vegetao de primeira ocupao que
ocupa terrenos rejuvenescidos pelas seguidas
disposies de areias marinhas nas praias, com
plantas adaptadas aos parmetros ecolgicos do
ambiente pioneiro.
A ameaa do trfco
Algoz da destruio forestal, o ser humano
o maior responsvel pelo extermnio das espcies
de fauna e fora da Mata Atlntica. Calcula-se, por
exemplo, que a taxa de extermnio de espcies
pela ao humana chega a ser de 50 a 100 vezes
superior aos ndices determinados por causas
naturais. A fauna da Mata Atlntica, com mais
de 2,1 mil espcies de vertebrados, dos quais
800 endmicos, tem suas populaes reduzidas
devido, principalmente, destruio de hbitats,
caa e captura para a obteno de lucro com o
comrcio ilegal.
Ameaada e maltratada, essa fauna conta
com 383 animais da Mata Atlntica sob algum
grau de ameaa de extino, segundo a ltima
Lista Oficial do Ibama, o que equivale a algo
em torno de 7% a 10% da fauna total de ver-
tebrados com ocorrncia no bioma. Em So
Paulo, a perereca Phrynomedusa fimbriata, que
ocorria ao longo de todo o litoral e em parte
do Paran e do Rio de Janeiro, teve seu ltimo
registro em 1966, nunca mais sendo encontrada
na natureza. Os ltimos remanescentes de So
Paulo tambm so refgios para vrias popu-
laes criticamente ameaadas ou em perigo
de extino, com ocorrncia principalmente
neste Estado. Como exemplos, destacam-se o
mico-leo-preto, o rato-da-rvore (Phyllomys
Thomasi), a jibia de Cropan (tpica da regio
do Vale do Ribeira) e a borboleta Euselasia
eberti, segundo informaes da Lista da Fauna
Brasileira Ameaada de Extino, da Fundao
Biodiversitas.
Caverna
do Diabo
Vale do
Ribeira
Mata Cap3 03SP.indd 81 2/23/06 10:57:14 PM
82
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
Grande responsvel pela extino de esp-
cies, o trfco de animais silvestres pode represen-
tar a retirada ilegal de 38 milhes de animais dos
ecossistemas brasileiros e a Mata Atlntica, por
sua diversidade e grau de endemismo, torna-se um
dos principais alvos dos contrabandistas. Numa
rede de muitos fos, que envolvem fornecedores,
intermedirios e consumidores, o trfco passa por
rotas de diferentes origens. Em geral, os animais
provm do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e
so escoados para as regies Sul e Sudeste pelas
rodovias federais. Junto com Rio de Janeiro, o
Estado de So Paulo o principal ponto de destino
da fauna ilegal, vendida em feiras ou exportada
pelos portos e aeroportos paulistas para a Amrica
do Norte, Europa e sia.
Na busca por cercear a ao de trafcantes e
ampliar a rede de reas protegidas da Mata Atln-
tica, entidades como a Rede Nacional de Combate
ao Trfco de Animais Silvestres (Renctas) e a
Fundao SOS Mata Atlntica propuseram recen-
temente a indicao das chamadas reas insubs-
tituveis. Elas passariam a ser identifcadas por
meio de uma base de dados unifcada para cada
uma das espcies ameaadas e/ou endmicas junto
com dados do Atlas dos Remanescentes Florestais
da Mata Atlntica.
Caminhos para a recuperao
Iniciativas pioneiras para a garantia da sus-
tentabilidade ambiental integrada s comunidades
locais da Mata Atlntica tm merecido destaque
no esforo de recuperao da foresta no Estado de
So Paulo. Na regio do Pontal do Paranapanema,
onde pequenos fragmentos de mata de interior,
vizinhos reserva do Morro do Diabo, compem
os ltimos refgios da foresta estacional semide-
cidual, o Instituto de Pesquisas Ecolgicas (IP)
vem obtendo sucesso em projetos de conservao
da paisagem. Ali, a ONG desenvolveu um modelo
de associao entre assentamentos da reforma
agrria e conservao, estabelecendo corredores
forestais entre os fragmentos, uma faixa de fo-
restas no entorno do Parque no projeto Abrao
Verde -, e ilhas de biodiversidade que funcionam
como trampolins para a fauna e fora locais. Mais
de 1 milho de rvores nativas j foram plantadas
em espaos antes devastados pela monocultura da
cana e pela pecuria extensiva, representando a
recuperao de uma rea equivalente a 350 cam-
pos de futebol de Mata Atlntica.
Manguezal
na regio
litornea
Jequitib milenar, a maior rvore viva
da Mata Atlntica, no Parque Estadual
de Vassununga
Mata Cap3 03SP.indd 82 2/23/06 10:57:41 PM
83
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
O conceito de corredor de biodiversidade
vem servindo tambm para a criao de estra-
tgias de gesto da paisagem macro-regional do
bioma. O Corredor da Serra do Mar, que interli-
ga os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e
So Paulo por meio da cadeia de montanhas que
acompanha o litoral do sudeste brasileiro e a Serra
da Mantiqueira, coloca-se como ferramenta para
a criao de polticas pblicas de conservao
da mata para esse trecho. Os limites do corredor,
estabelecidos pelo Fundo de Parceria para Ecos-
sistemas Crticos (CEPF), englobam o maior
remanescente de foresta ombrfla densa, a maior
diversidade de mamferos de pequeno e mdio
porte e a maior concentrao de aves ameaadas
e/ou endmicas. O CEPF fruto de uma aliana
entre a Conservao Internacional (CI), o Fundo
Mundial para o Meio Ambiente (GEF), o Banco
Mundial, a Fundao MacArthur e o governo do
Japo para fnanciar ONGs e entidades do setor
privado em projetos direcionados conservao
da biodiversidade nos hotspots (ver pg. xxx).
Recursos do fundo internacional vm sendo
direcionados para programas como o de criao
de reservas particulares (RPPN) no Corredor da
Serra do Mar. S em So Paulo e Rio de Janeiro
j so mais de 80 RPPNs ofcializadas.
Espao crtico nas estratgias de proteo
da Mata Atlntica, o Vale do Ribeira destaca-se
tambm como plo de projetos socioambientais
que permitem a recuperao da paisagem com a
insero econmica de populaes tradicionais.
Ali, com a elaborao do Diagnstico Socioam-
biental da Bacia Hidrogrfca do Rio Ribeira de
Iguape que compreende rea de 28.306 Km
2
de
2,1 milhes de hectares de forestas preservadas,
150 mil hectares de restingas, 17 mil hectares de
manguezais, alm de um dos mais importantes
patrimnios espeleolgicos do pas o Vale do Ri-
beira foi incorporado estrutura do Programa Mata
Atlntica, transformado em programa regional em
2002, que na forma de uma agenda positiva visa
construo de polticas pblicas com interface em
recursos naturais e comunidades tradicionais.
Ip-roxo
Mata Cap3 03SP.indd 83 2/23/06 10:57:56 PM
84
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
Indgenas, caiaras, remanescentes de qui-
lombos e pequenos agricultores familiares com-
pem a diversidade cultural do Vale do Ribeira,
que inspira projetos como o do Quilombo Ivapo-
runduva considerada a mais antiga comunidade
remanescente de quilombos da regio. Com o
objetivo de gerar meios alternativos de uso sus-
tentvel dos recursos naturais da comunidade, o
Instituto Socioambiental (ISA), em conjunto com
a Associao de Ivaporunduva, conseguiu agregar
valor cultura da banana, melhorar as prticas de
produo, certifcao orgnica, aprimorar o ar-
tesanato de palha de bananeira e comercializao
do produto, permitir o repovoamento do palmito
juara e outras culturas nativas da regio. Em
meados de 2003, 27 produtores j haviam obtido
o certifcado do Instituto Biodinmico (IBD).
J no Vale do Paraba, o turismo rural tem
se colocado como alternativa para a valorizao
do patrimnio cultural, preservao do meio
ambiente e revitalizao dos espaos das anti-
gas fazendas do perodo do caf. Ao contrrio
da simples visitao, a valorizao do turismo
regional inclui passeios de perfl ecolgico, co-
nhecimento de parques e museus, degustao da
culinria tradicional, eventos artsticos, entre ou-
tras iniciativas que permitem uma compreenso
mais aprofundada do produto turstico cultural.
Mais de cinco teses acadmicas sobre o modelo
do Vale do Paraba, disseminado em municpios
como Cunha, Bananal, Queluz, Areias e So
Luis do Paraitinga, foram publicadas nos lti-
mos anos. Recentemente, a Embratur tambm
lanou o livro Vale a Pena Preservar: Turismo
Cultural e Desenvolvimento Sustentvel, sobre
as experincias de valorizao da exuberncia
natural do Vale com a manuteno da identidade
cultural.
Ainda assim, nesse mesmo cenrio que
o paulista aprende com o processo de compro-
metimento da paisagem aps longas dcadas de
exaustivas e intensas atividades de explorao
econmica. O modelo de monocultura agrcola
implantado ao longo do Vale do Paraba coloca-
se como responsvel por uma srie de problemas
ambientais e sociais. A maioria decorrente da
poluio de rios e do ar, da destruio da cobertura
natural das forestas e do descontrole da migrao
humana. Numa das regies mais urbanizadas e
densamente povoadas do Sudeste, o eixo RioSo
Paulo exemplo de como a destruio ecolgica
implica diretamente na decadncia ambiental de
toda uma regio.
Pau-ferro
Mata Cap3 03SP.indd 84 2/23/06 10:58:08 PM
85
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
Contradies no smbolo da preservao no Estado
Motivo de uma das primeiras grandes
movimentaes de ambientalistas pela Mata
Atlntica, a Estao Ecolgica Juria-Itatins,
localizada nos municpios de Perube e Igua-
pe, no Vale do Ribeira, foi criada pelo governo
estadual em 1987 para ser um modelo de
unidade de conservao em So Paulo. Sua
implantao salvou uma das mais importan-
tes e bonitas pores do litoral paulista de se
transformar em loteamento de luxo para 70
mil pessoas ou em usina nuclear. Os quase
800 Km
2
da reserva representam um dos l-
timos remanescentes de Mata Atlntica bem
preservados em todo o Estado e abrigam
uma das maiores diversidades de ecossiste-
mas associados que compem o bioma, com
restingas, manguezais, forestas de plancie
e mata densa e mida de encosta.
Parte do Complexo Estuarino-Lagunar
de Iguape e Canania, a Estao Ecol-
gica representa quase 10% das unidades
de conservao estaduais e o principal
destino para pesquisadores de fauna e fora
da Mata Atlntica. Apesar disso, nunca se
efetivou integralmente como estao ecol-
gica (com uso exclusivo para preservao
e pesquisa). O principal problema foi uma
premissa errada em sua origem: criou-se
uma unidade de conservao de restrio
mxima em uma regio com vrias comu-
nidades, tradicionais ou no, e grande fuxo
de peregrinos e turistas.
Sem conseguir resolver os problemas
fundirios da rea, o Estado administra
uma reserva de uso restrito, sem ter como
retirar os moradores - a maior parte deles
reconhecidos, pelo prprio Estado, como
tendo direito legtimo de permanecer no
local. No podem, porm, praticar suas
atividades tradicionais nem reformar suas
casas (ofcialmente, claro).
Tambm proibido legalmente, o turis-
mo parcamente controlado, j que, como
Estao Ecolgica, no possvel destinar
Estao Ecolgica Juria Itatins
Mata Cap3 03SP.indd 85 2/23/06 10:58:10 PM
86
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
PROJETOS EM SP: pgs. 238, 241, 248,
254, 270 e 275
BIBLIOGRAFIA: pg. 316
AMEAAS EM SP: pgs. 199, 219, 221,
224 e 226
A REDE NO ESTADO: pg. 304
recursos para tanto. Para complicar, a Fu-
nai colocou ndios morando no local, com
permisso de fazer tudo que os demais
moradores no podem: plantar e retirar da
foresta palmitos e bromlias para subsis-
tncia, o que tem signifcado, na prtica,
abastecer as feiras e as fbricas clandes-
tinas da regio. A questo fundiria um
dos maiores problemas da unidade, j que
menos de 15% da rea pertence defnitiva-
mente ao Estado.
Quanto aos moradores, existem mais de
350 famlias, com diferentes situaes: morado-
res tradicionais, moradores antigos, moradores
recentes (que estavam na rea h pouco tempo
quando foi criada a Estao) e caseiros. Impe-
dida de expandir agricultura, edifcar ou abrir
novas reas para visitao, essa populao em-
pobreceu e se descaracterizou. Com tudo isso,
difcil evitar que, volta e meia, se tenha notcias
de desmatamentos criminosos no local.
Embora complexos, os problemas na
Juria acontecem em pontos determinados
e em uma porcentagem pequena de rea.
Apenas 5% da Estao possui populao.
Mas as presses sobre a reserva so di-
versas e vo de mudar sua categoria, para
permitir moradores e turistas, a criar um
mosaico com vrios tipos de unidades de
conservao.
Detalhe de
bromlia
Consultora: Maria Ceclia Wey de Brito,
diretora do Instituto Florestal de So Paulo.
Mata Cap3 03SP.indd 86 2/23/06 10:58:20 PM
87
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
Rio de Janeiro
O Rio de Janeiro se insere integralmente no bioma
Mata Atlntica que, como um todo, bastante antigo,
acreditando-se que j estava confgurado no incio
do Tercirio. Contudo, as futuaes climticas mais
recentes ao longo do Quaternrio, ocasionaram
processos de expanso e de retrao espacial da
Mata Atlntica, a partir de regies mais restritas que
funcionaram como refgios de fauna e fora.
Essa hiptese admite que existem algumas
regies da Mata Atlntica que so zonas de alta
diversidade, a partir das quais ocorreu a irradiao
de muitas espcies, conforme a mata se expandia.
Essas zonas, que constituem os antigos refgios
pleistocnicos so as seguintes: sul da Bahia;
regio dos tabuleiros do Esprito Santo e regio
do litoral do Rio de Janeiro e norte de So Pau-
lo. Nessas zonas, encontrado um considervel
nmero de espcies endmicas, associadas a uma
elevada diversidade especfca. O estado do Rio
de Janeiro ocupa uma posio bastante peculiar,
pois sua localizao coincide com uma das reas
de maior diversidade do bioma.
Estimativas do conta que o Rio de Janeiro
por volta do Sc. XVI, possua cobertura forestal
em 97% de seu territrio. O mapa de vegetao
na escala de 1:1.000.000 do Projeto RADAM-
BRASIL indica que o Rio de Janeiro abrangia
parcelas das regies ftoecolgicas originais do
bioma Mata Atlntica.
As regies fitoecolgicas compreendem
formaes forestais e no forestais (savana e
estepe). As forestas so formadas por espcies
arbreas dispostas, segundo a altura, em at
quatro estratos defnidos. As savanas e estepes
caracterizam-se por apresentarem dois estratos de
vegetao, um arbustivo e outro herbceo. Dados
recentemente publicados pela Fundao SOS
Mata Atlntica mostram que em 1995 restavam
cerca de 928.858 ha de forestas, correspondendo
a 21,07% da superfcie do Estado.
Esses estudos tambm conduzidos para o
perodo de 1995 a 2000, revelam ainda que,
entre 1990 e 1995, as florestas fluminenses
perderam 140.372 ha, o equivalente a 170 mil
Baa da Guanabara
Mata Cap3 04RJ.indd 87 2/23/06 11:00:48 PM
88
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
campos de futebol, uma reduo de 13,3% no
total de forestas registrado em 1990. Entre 1995
a 2000, as forestas fuminenses perderam 3.773
ha, que representa uma reduo de 0,51% da
cobertura existente em 1995. Embora a taxa de
desmatamento tenha cado signifcativamente
nos ltimos 5 anos, o estado de conservao
da cobertura vegetal nativa do Rio de Janeiro
crtico. As forestas raramente alcanam as
margens dos rios nos trechos planos e suaves
ondulados. Os principais remanescentes encon-
tram-se apenas em locais de maior declividade
das elevaes que compem a Serra do Mar e
os macios litorneos. H tambm milhares de
pequenos fragmentos de Mata Atlntica espa-
lhados nas propriedades particulares das reas
rurais e mesmo em grandes glebas urbanas, que
esto precariamente protegidos e sujeitos a toda
a sorte de perturbaes.
As maiores extenses de forestas cont-
nuas e conservadas encontram-se nas regies
de Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba e, no
interior do Estado, na regio serrana, indo desde
a Reserva Biolgica de Tingu, passando pelo
Parque Nacional de Serra dos rgos, Parque
Estadual dos Trs Picos indo de forma descon-
tnua at o Parque Estadual do Desengano. As
reas mais crticas encontram-se nas regies
norte e noroeste do Estado, com grande perda de
cobertura forestal no perodo de 1995 a 2000,
alto grau de degradao e manchas de eroso. De
forma geral, a reduo, degradao e a fragmen-
tao da cobertura vegetal no Estado tm como
causas diversos fatores, sendo os principais os
seguintes:
- unidades de conservao criadas mas no
implantadas;
- expanso de reas de criao de gado e de
cabras em encostas ngremes e topos de morros;
- expanso de reas urbanas e de condom-
nios e loteamentos rurais e litorneos;
- queimadas causadas por criadores de gado,
loteadores, bales e agricultores;
- pedreiras e saibreiras;
- bananais;
- extrativismo de recursos vegetais (palmito
e plantas ornamentais e medicinais);
- linhas de transmisso de energia eltrica e
dutos de gs e petrleo;
- ausncia de zoneamento ecolgico-eco-
nmico.
Reserva da Biosfera da Mata
Atlntica no Estado
O reconhecimento da Reserva da Biosfera da
Mata Atlntica no Rio de Janeiro se deu em duas
fases. Em meados de 1991, trs reas protegidas
de relevncia nacional foram consideradas: os
Parques Nacionais da Tijuca e Serra dos rgos
e a Reserva Biolgica do Tingu.
Notadamente, o Estado abriga pores exube-
rantes da Mata Atlntica, que alm de extraordinria
Semente de
palmito-juara
Centro histrico
do Rio de Janeiro
Mata Cap3 04RJ.indd 88 2/23/06 11:01:15 PM
89
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
biodiversidade, concentra monumentos e stios na-
turais nicos na sua paisagem, beleza e relevncia
cultural. Com objetivo de assegurar a essas parcelas
inigualveis do ecossistema atlntico o mesmo trata-
mento e status daquelas inicialmente consideradas, o
Instituto Estadual de Florestas props a ampliao da
rea abrangida pela Reserva da Biosfera para 29,92%
do territrio fuminense, com uma rea aproximada
de 14.820 Km
2
(1,48 milhes de hectares).
Em novembro de 1992, na segunda fase da
Reserva da Biosfera, o reconhecimento foi esten-
dido a toda rea pleiteada, abrangendo quase dois
teros da totalidade dos municpios fuminenses.
Esto inseridos na Reserva da Biosfera no Estado
do Rio de Janeiro, quatro parques nacionais, seis
parques estaduais, seis reservas biolgicas, trs
estaes ecolgicas, doze reas de proteo am-
biental, uma rea de relevante interesse ecolgico
e 29 reservas particulares do patrimnio natural.
A Reserva da Biosfera da Mata Atlntica
constituda por zonas ncleo destinadas proteo
integral da natureza, como as reas de Preserva-
o Permanente, Reservas Legais e Unidades de
Conservao. Nas zonas de amortecimento, que
envolvem as zonas ncleo, as atividades econmi-
cas e o uso da terra devem estar em equilbrio para
preservar a integridade dos ecossistemas das zonas
ncleo, bem como o desenvolvimento sustentvel
local. Finalmente, as zonas de transio, que envol-
vem as zonas de amortecimento, onde o processo
de ocupao e o manejo dos recursos naturais so
planejados e conduzidos de modo participativo e em
bases sustentveis, com nfase no controle, fscali-
zao, monitoramento e educao ambiental.
Devido grande extenso, diversidade
biolgica e pluralidade cultural envolvidas,
imperioso que a sua gesto seja participativa e
descentralizada, feita por meio de seus comits
estaduais. Dessa forma, o Governo do Estado,
atravs de Decreto Estadual 26.057, criou em
14 de maro de 2000, o Comit Estadual da Re-
serva da Biosfera da Mata Atlntica/RJ, que tem
como funo precpua implementar a Reserva
no Estado, promovendo a conservao da biodi-
versidade no Domnio da Mata Atlntica e seus
ecossistemas associados.
Foto 3
cap3-1-RJ
Cidade do Rio
de Janeiro
Mata Cap3 04RJ.indd 89 2/23/06 11:01:28 PM
90
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
reas naturais tombadas
A proteo efetivada atravs do tombamento
de reas naturais considerada um importante ins-
trumento para preservao de stios com relevante
valor histrico, artstico, paisagstico, arqueolgico,
cultural ou cientfco de uma determinada regio.
O tombamento um instituto jurdico, ins-
titudo pela Unio, atravs do Decreto-Lei n 25,
de 30 de novembro de 1937, que visa a proteo do
patrimnio cultural e natural, implicando restries
de uso que garantam a proteo e manuteno de
suas caractersticas, no necessitando serem ex-
propriadas, permanecendo sob o domnio de seu
titular.
Representa, ento, uma forma de interveno
ordenadora do Estado, que restringe o exerccio
sobre bens de seu domnio e sobre direitos de uti-
lizao por parte do proprietrio, no impedindo
o uso do bem, mas impondo algumas restries s
eventuais alteraes que nele possam ser feitas, f-
cando a execuo de qualquer obra na dependncia
de autorizao do rgo responsvel. O tombamen-
to pode ser federal, estadual ou municipal, desde
que o ente da federao tenha lei prpria.
Dedo de Deus, no Parque Nacional da Serra dos rgos
F
o
t
o
:
L
e
o
n
a
r
d
o
B
.
V
e
n
t
o
r
i
m
Mata Cap3 04RJ.indd 90 2/23/06 11:01:30 PM
91
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
O Decreto-Lei n 25/37, em seu artigo 2, pa-
rgrafo 1, equiparou os monumentos naturais aos
bens de valor histrico e cultural: equiparam-se
aos bens a que se referem ao presente artigo, e so
tambm sujeitos a tombamento, os monumentos
naturais e os stios e paisagens que importem con-
servar e proteger pela feio notvel que tenham
sido dotados pela natureza ou agenciados pela
indstria humana.
O estado do Rio de Janeiro foi o que criou o
primeiro rgo de preservao do patrimnio cul-
tural de todo o Pas. Em 31 de dezembro de 1964, o
Decreto N n 346/64 criou a Diviso de Patrim-
nio Histrico e Artstico do Estado da Guanabara
- DPHA, do qual o Instituto Estadual do Patrimnio
Cultural (INEPAC) o sucessor legal.
O primeiro tombamento estadual do Brasil
foi feito em 1965, no Rio de Janeiro, preservando
o Parque Henrique Lage, onde ao mesmo tempo
que preservava a construo ecltica do incio do
sculo XX, protegia o amplo parque, importante
rea verde da cidade.
A legislao atual pela qual regulado o tom-
bamento do patrimnio fuminense no nvel estadual
composta pelo citado Decreto N n 346/64, a Lei
n 509, de 13 de julho de 1981, que criou o Conselho
Estadual de Tombamento e o Decreto n 5808, de
13 de julho de 1982, que a regulamentou.
Seguem-se a listagem das reas naturais tom-
badas pela Unio e pelo Estado, nem todas elas
includas em unidades de conservao. Pode-se
observar a incluso nessa lista dos jardins histri-
cos, que comumente foram protegidos pelo tom-
bamento, seja por seu valor como jardim ou por
constiturem uma rea envoltria ou integrada a
uma edifcao histrica ou stio arqueolgico.
Esses jardins, assim como vrias reas natu-
rais tombadas, embora protegidos pela legislao
cultural, no foram consideradas unidades de con-
servao, contudo no os priva do reconhecimento
pblico de seu elevado valor, que exprimem es-
treitas relaes entre o espao urbano construdo
e o ambiente natural.
Cactus
Mata Cap3 04RJ.indd 91 2/23/06 11:01:32 PM
92
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
Angra dos Reis
rea Indgena Guarani-Bracu, localiza-
da no Parque da Bocaina
Ilha Grande, na Baa de Angra dos
Reis
Cabo Frio
Dunas de Cabo Frio orla ocenicas
desde a Praia de Cabo Frio ou do Forte at
a praia do Pontal, junto ao Morro do Forno
em Arraial do Cabo
Niteri
Pedra do ndio, Pedra de Itapuca, na
Praia de Icara
Ilha dos Cardos, na Praia das Flexas
Canto Sul da Praia de Itaipu e Ilhas da
Menina, da Me e do Pai
Paraba do Sul
Caminhos de Minas Trecho compreen-
dido entre a Estrada das Pedras e a Fazenda
Fagundes em Araras
Parati
Costa de Trindade
Enseada do Sono e Praia da Ponta do
Caju
Enseada do Pouso e Ilha de Itaoca
Saco e Manguezal de Manangu
Enseada de Paraty Mirim e Ilha das
Palmas
Praia Grande
Ilha do Arajo
Praia de Tarituba
reas Naturais Tombadas Estaduais
Petrpolis
Caminhos de Minas Trecho da Estrada
Normal da Estrela
Trechos da Calada da Pedra ou Cami-
nho de Inhomirim
Trecho da Estrada Taquara
Trecho da Estrada do Imperador
Rio de Janeiro
Sistema Orogrfco Serra do Mar/Mata
Atlntica, englobando no Estado do Rio de
Janeiro trechos do territrio de 38 municpios:
Angra dos Reis, Barra do Pira, Bom Jardim,
Cachoeiras de Macacu, Campos, Casimiro
de Abreu, Conceio de Macabu, Duas Bar-
ras, Duque de Caxias, Engenheiro Paulo de
Frontin, Guapimirim, Itabora, Itagua, Japeri,
Maca, Mag, Mangaratiba, Maric, Mendes,
Miguel Pereira, Niteri, Nova Friburgo, Nova
Iguau, Paracambi, Parati, Petrpolis, Pira,
Rio Bonito, Rio Claro, Rio de Janeiro, Santa
Maria Madalena, So Fidelis, Saquarema,
So Gonalo, Silva Jardim, Sumidouro, Te-
respolis e Trajano de Morais
Pontas de Copacabana e Arpoador
Parque Henrique Lage
Parque da Gvea ou Parque da Cida-
de
Morro Dois Irmos
Recanto do Trovador antigo Jardim
Zoolgico
Parque Ary Barroso
Pedra da Panela
Ilha de Brocoi
Pedra da Moreninha
Reserva Biolgica de Jacarepagu
Mata Cap3 04RJ.indd 92 2/23/06 11:01:32 PM
93
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
Cabo Frio
Conjunto Paisagstico de Cabo Frio, mo-
numentos e paisagem- Morro do Telgrafo/
Morro de Guia / Praia do Forte
Niteri
Ilha da Boa Viagem Conjunto Arquite-
tnico e Paisagstico
Nova Friburgo
Casa e Parque da Cidade Jardim e
Parque So Clemente
Parati
Municpio de Parati
Rio de Janeiro
Horto Florestal Jardim Botnico
Pedra de Itapu
Morro do Rangel na Estrada do Pontal
no Recreio dos Bandeirantes
Morro do Urubu na Estrada do Pontal no
Recreio dos Bandeirantess
Pedra de Itana, na BR 101
Morro Dois Irmos, Pontal de Sernam-
betiba . Morro do Cantagalo, Pedra da Ba-
leia, Morro do Amorim , Morro do Portela na
baixada de Jacarepagu
Praia de Grumari
Extenso do Tombamento da Praia de
Grumari.
So Joo da Barra
Litoral Fluminense Foz do Rio Paraba
do Sul, incluindo-se o manguezal, bem como
a Ilha da Convivncia e as outras vizinhas.
reas Naturais Tombadas Federais
Jardim Botnico
Morro da Babilnia , Morro da Urca,
Morro Dois Irmos
Jardim e Palcio das Laranjeiras
Jardim e Palcio do Catete
Jardim e Palcio Guanabara
Jardim e Palcio Itamarati
Po de Acar
Parque do Flamengo
Jardim e Parque Henrique Lage Con-
junto Paisagstico
Parque Nacional da Tijuca e Florestas
Passeio Pblico
Pedra da Gvea Penhasco da Pedra
da Gvea
Praias de Paquet
Quinta da Boa Vista
Jardim e Museu da Chcara do Cu
Mata Cap3 04RJ.indd 93 2/23/06 11:01:33 PM
94
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
Geomorfologia e paisagens
O Estado do Rio de Janeiro um dos mais
ricos de todo o Brasil em termos de monumentos
geolgicos notveis. De fato, algumas montanhas
fluminenses, pelas suas silhuetas formosas e
situao privilegiada, tais como o Po de Acar
e o Corcovado, ambas na capital, adquiriram
renome internacional. Inmeras outras, contudo,
merecem igual destaque; tantas, na realidade, que
apresentaremos aqui apenas as mais expressivas
de cada um dos principais macios fuminenses.
Na Serra da Mantiqueira, o macio do Ita-
tiaia, em boa parte protegido pelo parque nacional
homnimo, tem no Pico das Agulhas Negras,
com 2.797 m, o seu ponto culminante, sendo
tambm o ponto mais elevado de todo o Estado.
Outras montanhas signifcativas do Itatiaia so as
Prateleiras, a Pedra do Altar e a Pedra Assenta-
da, valendo ainda a meno s pequenas, porm
curiosas, Pedra da Ma, Pedra da Tartaruga e
Asa de Hermes. Fora do parque, mas na mesma
regio, merecem destaque os dois cumes da Pedra
Selada, no municpio de Resende.
Na regio sul do Estado elevam-se os ngre-
mes contrafortes da Serra da Bocaina, que atingem
grande altitude e formam diversos picos de inegvel
beleza, dos quais a Pedra do Frade reina absoluta em
Angra dos Reis, enquanto o Pico das Trs Orelhas
uma das atraes do municpio de Mangaratiba.
Na Reserva Ecolgica Estadual da Juatinga,
em Parati, as escarpas saem diretamente do mar
para atingir altitudes um pouco superiores aos mil
metros no Pico do Cairuu, em cujas cercanias
encontram-se, provavelmente, alguns remanes-
centes de mata primria e muitas espcies amea-
adas de extino, entre elas um pequeno grupo
de muriquis (Brachyteles arachnoides), o maior
primata das Amricas. No muito distante dali,
na Ilha Grande, temos outra serra com montanhas
de grande beleza, dentre as quais reina o Pico do
Papagaio, com seu curioso formato.
A cidade do Rio de Janeiro uma das reas
mais prdigas em montanhas do Estado. Alm
dos j mencionados Po de Acar e Corcovado,
que dispensam maiores comentrios, temos, no
Parque Estadual da Pedra Branca os Dois Irmos
de Jacarepagu, a Pedra Grande e a prpria Pedra
Branca, ponto culminante do municpio do Rio de
Janeiro com seus 1.024 m. No Parque Nacional da
Tijuca, que compreende as quotas mais elevadas
da Serra da Carioca, o Bico do Papagaio, a Pedra
da Gvea e o Pico da Tijuca (1.021 m) so os
destaques; fnalmente, na Reserva Florestal do
Graja, sob administrao estadual, a pirmide
quase perfeita do Perdido do Andara verdadei-
ramente admirvel.
Nas vizinhas Niteri e Maric, a Serra da
Tiririca se eleva em relativo isolamento, sendo que
o conjunto formado pelos Alto Mouro, Morro do
Telgrafo e Agulha Guarischi formam um cenrio
de carto postal.
na apropriadamente chamada regio ser-
rana do Estado, contudo, que se encontra a maior
concentrao de formaes rochosas de tirar o f-
lego. Como pano de fundo da Baixada Fluminense
ergue-se a Serra do Tingu, imensa escarpa que
abriga uma das maiores extenses contnuas de
foresta ombrfla densa de todo o Estado e cujo
ponto culminante a Pedra da Congonha, em
Xerm. J Petrpolis ostenta uma impressionante
coleo de gigantescos morros arredondados, dos
quais se destacam a Maria Comprida, em Araras; o
Litoral fuminense
Mata Cap3 04RJ.indd 94 2/23/06 11:01:35 PM
95
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
Alcobaa e o Me Dgua, em Correas; e o grupo
de montanhas em torno dos morros do Taquaril e
da Jacuba, na Posse.
tambm em Petrpolis que comea a Serra
dos rgos, que muitos consideram o mais belo ma-
cio de montanhas do Brasil. Ela ganhou esse nome
porque os portugueses quando aqui chegaram, ao
ver distncia os colossais pontes granticos que
compem, acharam que eles se assemelhavam aos
tubos de um gigantesco rgo divino, o que talvez
explique por que tantas de suas montanhas possuam
nomes de santos ou de temas litrgicos. Em sua
maior parte protegida por um parque nacional, que
tem uma longa tradio de bom relacionamento
com os muitos montanhistas que o freqentam, a
Serra dos rgos em geral, e o Dedo de Deus em
particular, so timos exemplos de como uma pai-
sagem natural bem preservada pode ser um trunfo
econmico para uma cidade no caso, Terespolis,
embora suas principais montanhas estejam em terras
do municpio de Guapimirim.
So inmeros os picos de grande beleza e
elegncia na Serra dos rgos. A vista clssica, na
sada da cidade, inclui o Escalavrado, que conta
com uma longa aresta livre de vegetao que pare-
ce o dorso de um gigantesco animal pr-histrico
voltado para a estrada; o Dedo de Nossa Senhora,
grande ponto que se situa um pouco mais longe; e
o j citado Dedo de Deus, um ponto ainda maior
e mais aflado, que tem ao seu redor os Dedinhos,
elevaes secundrias que ajudam no entanto a
compor a grande mo divina da regio serrana.
Acima desses, erguem-se picos cada vez maiores,
como Cabea de Peixe, Santo Antnio, So Joo,
So Pedro... Mas a montanha mais impressionante
da Serra dos rgos , sem dvida, a Agulha do
Diabo, imenso punhal de granito apontado para
o ar e apoiado em um pedestal cuja base fca a
quase 1 km do topo da montanha. Ela se encontra
rodeada de paredes igualmente altas nos vizinhos
Garrafo, Coroa do Frade e na Pedra do Sino,
ponto culminante do parque com 2.263 m.
Borboletas
Mata Cap3 04RJ.indd 95 2/23/06 11:01:42 PM
96
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
A vizinha Friburgo tambm repleta de
monumentos geolgicos nicos. Na localidade
conhecida como Furnas, o Co Sentado uma
pedra que guarda extraordinria semelhana com
o objeto do seu nome e a Pedra do Cnego um
grande morro arredondado no permetro urbano
da cidade. Mas na fronteira entre Friburgo
e Terespolis que se encontram as montanhas
mais espetaculares da regio, em lugares como
Salinas, Vale dos Frades e Bonsucesso. Em Sa-
linas, temos os Trs Picos de Friburgo, inseridos
no Parque Estadual dos Trs Picos,sendo o Pico
Maior o ponto culminante de toda a Serra do Mar,
e o Capacete, impressionante conjunto de picos
granticos muito procurado pelos escaladores de
todo o Brasil e mesmo do exterior. Alm deles, a
Caixa de Fsforos um bloco solto de formato
mais ou menos cbico, com cerca de 20 metros de
altura, precariamente equilibrado em um pedestal
bem menor do que ele.
Abaixo da Caixa de Fsforos estende-se o
Vale dos Frades, onde se destacam a gigantesca
parede nua do Morro dos Cabritos e, do outro lado
do rio, uma seqncia de montanhas apenas um
pouco menores. Mais adiante, a Pedra DAnta e
os Dois Bicos do Vale das Sebastianas completam
um cenrio que um dos mais belos, e tambm um
dos menos conhecidos, de todo o Estado. Outras
elevaes notveis nos arredores, ambas no per-
metro de Terespolis, so os morros que formam
a Mulher de Pedra e as Torres de Bonsucesso, na
localidade homnima.
Seguindo em direo ao norte uma ou
outra montanha se destaca na paisagem, como
por exemplo a Pedra Manoel de Moraes, em
Trajano de Moraes, mas chegando em Santa
Maria Madalena que tem incio o ltimo
grande macio do Estado, a Serra do Desen-
gano, cujo ponto culminante o Pico do De-
sengano. Includa no primeiro e maior parque
estadual do Rio de Janeiro, ela no entanto
encontra-se inacessvel populao, pois a
quase totalidade de suas terras ainda so de
domnio privado.
Outras montanhas notveis, que no pode-
riam deixar de ser mencionadas devido sua
imponncia, so a Pedra Lisa, em Morro do Cco,
Campos, espetacular agulha rochosa isolada; o
Morro de So Joo, em Casimiro de Abreu, quase
totalmente transformado em Reserva Particular
do Patrimnio Natural; a
Pedra do Frade, em Maca;
e a Agulha de Itacolomi, em
Santo Aleixo, Mag.
Ecossistemas
A tipifcao das cober-
turas forestais que compem
a Mata Atlntica no Rio de
Janeiro foi detalhada no
Projeto RADAMBRASIL,
de 1982. Pode-se, com base
nelas, identificar os tipos
florestais do Estado, per-
tencentes a quatro regies
ftoecolgicas:
Regio
serrana
Mata Cap3 04RJ.indd 96 2/23/06 11:01:52 PM
97
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
Regio ftoecolgica estepe - Corresponde a
uma caatinga, devido s condies predominantes
de clima e precipitaes semelhantes s do Nor-
deste brasileiro. Essa caatinga fuminense ocorre,
como uma formao aberta, apenas nos munic-
pios de Arraial do Cabo e de Cabo Frio, sempre
sobre os macios adjacentes ao mar. A vegetao
especial nessas localidades, ostentando raridades
da fora estadual, como as Bromeliaceae Tillan-
dsia gardneri var. rupicola, Tillandsia neglecta,
Nidularium atalaiensis, Cryptanthus sinuosus
e Cryptanthus maritimus, que so endmicas
da regio, alm de outras espcies da mesma
famlia, menos raras, como Bilbergia amoena,
Quesnelia quesneliana, Neoregelia cruenta e Al-
cantarea gigantea. Outro endemismo regional
o Pilosocereus ulei, que aparece acompanhado de
outras Cactaceae, como Pilosocereus arrabidae,
Cereus fernanbucensis e Austrocephalocereus
fuminensis, em meio a vrias espcies de Eu-
phorbiaceae.
De grande fragilidade e de carter exclusivo
no Estado, esse tipo de cobertura forestal est
sob a intensa presso antrpica representada pela
especulao imobiliria e ocupao desordenada
do solo.
Regio ftoecolgica foresta ombrfla densa
- Os ambientes fuminenses onde se instala a fo-
resta ombrfla densa possuem precipitaes bem
distribudas ao longo do ano, em torno de 1.500
mm, sem perodo seco. Essa regio apresenta
cinco formaes em todo o Brasil, mas, no Rio de
Janeiro, esto representadas apenas quatro:
- Floresta das terras baixas - Est estabelecida
nas baixas altitudes, at 50 m, com remanescentes
ao longo do Estado, nas reas alagadas ou muito
midas. A vegetao apresenta composio fors-
tica variada, com a presena constante do pau-de-
tamanco (Tabebuia cassinoides - Bignoniaceae)
e do coco-de-tucum (Bactris setosa - Arecaceae).
Um sub-bosque pode estar presente com vrias
Piperaceae e Costus spiralis (Zingiberaceae). Ou-
tras espcies arbreas freqentes so as fgueiras
(Ficus organensis, Ficus insipida - Moraceae) e
os ings (Inga laurina - Leguminosae). No litoral
Sul, pode ocorrer a palmeira Raphia ruffa e nas
bacias dos rios So Joo e Maca aparecem o
guanandi (Symphonia globulifera - Clusiaceae) e
o uanani (Callophyllum brasiliense - Clusiaceae).
A umidade desses ambientes favorece a alta inci-
dncia de epftas representadas por Bromeliaceae,
Araceae, Cactaceae e Orchidaceae. A abertura
da BR-101 representou um drstico aumento das
presses antrpicas sobre os remanescentes desse
tipo de mata.
foresta submontana - Essa formao forestal
compreende as matas que ocorrem na faixa de
altitude entre os 50 e os 500 metros, no relevo
montanhoso da Serra do Mar, nos contrafortes
litorneos e nas ilhas. Seus principais remanes-
centes constituem, quase sempre, reas de preser-
vao permanente, pois esto situados na escarpa
frontal da Serra do Mar, com declividades geral-
mente muito acentuadas, ou fazem parte de algum
tipo de unidade de conservao, como o Parque
Nacional da Bocaina, a APA de Cairuu, a APA
de Tamoios, o Parque Estadual da Ilha Grande, a
Reserva Biolgica Estadual da Praia do Sul, a APA
de Mangaratiba, a Reserva Biolgica do Tingu,
a APA de Petrpolis, o Parque Nacional da Serra
dos rgos, a Estao Ecolgica do Paraso e o
Parque Estadual do Desengano. A composio
forstica rica e variada, sendo alguns elemen-
tos bastante comuns, como o tapi (Alchornea
Terespolis, regio serrana
Mata Cap3 04RJ.indd 97 2/23/06 11:01:58 PM
98
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
iricurana - Euphorbiaceae); as freqentssimas
embabas (Cecropiaceae) e quaresmeiras (Tibou-
china granulosa - Melastomataceae); as grossas
fgueiras (Ficus spp. - Moraceae), que muitas
vezes,so rvores estranguladoras de outras
rvores, crescendo sobre elas como parasitas; a
carrapeta (Guarea guidonia - Meliaceae), sempre
presente s margens dos riachos; o aoita-cavalo
(Luehea grandifora - Tiliaceae) e a gregria pin-
daba (Xylopia brasiliensis - Annonaceae). Essas
espcies, juntamente com dezenas de outras, for-
mam um dossel contnuo, sombreando o interior
das matas. Sob esse dossel que pode estar a 25-30
m do solo e do qual sobressaem as copas do jaca-
tiro (Miconia fairchildiana - Melastomataceae)
e da canela-santa (Vochysia laurifolia - Vochysia-
ceae), um sem nmero de plantas forma um sub-
bosque adaptado luminosidade diminuda pelas
rvores mais altas. As folhas, para otimizao da
fotossntese, possuem maiores concentraes de
clorofla e, por isso, tm colorao verde-escura,
como as Piperaceae dos gneros Piper, Poto-
morphe e Ottonia e os sonhos-douro (Psycho-
tria nuda - Rubiaceae) ou expandem as lminas
foliares, exibindo macroflia acentuada, como a
Rudgea macrophylla (Rubiaceae) e as inmeras
Marantaceae (Maranta, Ctenanthe, Stromanthe)
e Heliconiaceae (Heliconia). Esse sub-bosque
o habitat do palmito (Euterpe edulis - Arecaceae),
cujos estoques naturais sofrem contnua depleo
por cortadores clandestinos.
- Floresta montana - Os remanescentes desse
tipo de mata localizam-se no rebordo dissecado da
Serra do Mar e na Serra de Itatiaia, em altitudes
compreendidas entre os 500 e os 1500 m. As par-
tes altas de algumas das unidades de conservao
do Estado contm trechos da formao montana
da foresta ombrfla densa, como o Parque Na-
cional da Bocaina, o Parque Nacional de Itatiaia,
a Reserva Biolgica do Tingu, o Parque Nacional
da Serra dos rgos, a APA de Petrpolis, a APA
do Jacarand e o Parque Estadual do Desengano.
Tambm algumas iniciativas municipais preser-
vam esse tipo de formao forestal, como a APA
da Serrinha, em Resende, as APAs de So Jos do
Vale do Rio Preto e a Reserva de Maca de Cima,
em Friburgo. A fora dessa formao apresenta
muitas das espcies da formao submontana.
Surge, entretanto, o gigante da Mata Atlntica, o
jequitib-rosa (Cariniana estrellensis - Lecythi-
daceae), que, sobressaindo do dossel contnuo das
copas, pode superar os 30 m de altura. Bastante
alto tambm o ouriceiro (Sloanea sp. - Elaeo-
carpaceae).
A dominncia em espcies fca por conta
das Lauraceae, que esto representadas por in-
meros gneros (Aiouea, Aniba, Cryptocarya,
Endlicheria, Licaria, Nectandra, Ocotea, Persea,
Phyllostemodaphne, Urbanodendron) e espcies,
destacando-se, entre elas, o rarssimo tapinho
(Mezilaurus navalium), de especial importncia
histrica: considerado o carvalho brasileiro, foi
intensamente utilizado na construo de caravelas,
urcas, fragatas, escunas e sumacas, bem como nos
reparos das frotas que aportavam avariadas ao
Rio de Janeiro. Sua intensa utilizao no perodo
colonial foi regulamentada por Carta Rgia de
1799. Outras espcies que fazem parte da fo-
resta montana so o cedro (Cedrela angustifolia
- Meliaceae), o louro-pardo (Cordia trichotoma
- Boraginaceae), o vinhtico (Plathymenia fo-
liolosa - Leguminosae) e o guaper (Lamanonia
ternata - Cunoniaceae). No sub-bosque, aparecem
a guaricanga (Geonoma sp. - Arecaceae) e os fetos
arborescentes ou samambaias-gigantes: Trichop-
teris sp. (Cyatheacae) e Dicksonia sellowiana
(Dicksoniaceae). O interior dessas matas, sempre
sombrio, ocupado por plantas herbceas de pe-
queno porte, como Besleria spp. (Gesneriaceae),
Coccocypselum spp. (Rubiaceae), Dichorisandra
spp. (Commelinaceae), Dorstenia spp. (Morace-
ae), Pilea spp. (Urticaceae) e uma infnidade de
Mata Cap3 04RJ.indd 98 2/23/06 11:02:01 PM
99
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
gneros de Pteridophyta (Blechnum, Didymochla-
ena, Dryopteris, Lygodium, Marattia, Polybotria,
Sellaginella). Cips e escandentes so, tambm,
numerosos: Bauhinia spp (Leguminosae), Cissus
spp. (Vitaceae), Davilla rugosa (Dilleniaceae),
Pithecoctenium spp. (Bignoniaceae), Serjania
spp. (Sapindaceae) e Smilax spp. (Smilacaceae),
entre outros. Troncos e galhos das rvores so
literalmente cobertos de epftos, que vo desde
lquens, hepticas e musgos, passando por vrias
Pteridophyta (Hymenophyllum, Microgramma,
Trichomanes); Dicotyledoneae, como Begonia-
ceae (Begonia), Cactaceae (Hariota, Ripsalis,
Schlumbergera), Gesneriaceae (Codonanthe,
Nematanthus), Marcgraviaceae (Marcgravia),
Peperomiaceae (Peperomia) e Monocotyledo-
neae, como Bromeliaceae (Vriesia, Tillandsia),
Cyclanthaceae (Carludovica) e Orchidaceae
(Bifrenaria, Catasetum, Cattleya, Miltonia, On-
cidium, Pleurothalis).
- Floresta alto-montana - Ocupa os ambientes
situados acima dos 1500 m. nela que existe a
maior ocorrncia de endemismos, sendo o Itatiaia
um dos locais notveis nesse sentido. Tais matas
so chamadas nebulares por estarem freqen-
temente encobertas por nuvens que saturam o
ar de umidade. As rvores so de altura apenas
mediana, retorcidas e exibem um certo grau de
xeromorfsmo, devido s baixas temperaturas.
Entre elas, encontram-se espcies que pertencem
a famlias pouco representadas no Brasil ou a g-
neros escassos no Estado do Rio de Janeiro: Aqui-
foliaceae, com o nico gnero, Ilex, mais comum
e melhor representado no Sul do Brasil, incluindo
Ilex paraguariensis, a erva-mate; Celastraceae,
com o nico gnero, Maytenus, um dos poucos
brasileiros e o nico da famlia que ocorre no Esta-
do; Clethraceae, com o nico gnero Clethra, que
possui, apenas, duas espcies brasileiras; Cuno-
niaceae, com o gnero Weinmannia, um dos trs
que ocorrem no Pas; Winteraceae, com Drymis
brasiliensis, nica espcie brasileira; Myrsinace-
ae, com o gnero Myrsine, um dos quatro brasi-
leiros; Proteaceae, com o gnero Roupala, um dos
trs representados no Brasil, e Saxifragaceae, com
o gnero Escallonia, o nico brasileiro. Dos ar-
bustos, cita-se Berberis laurina (Berberidaceae),
tambm a nica espcie brasileira. Algumas aves
nativas da Mata Atlntica vivem nessas forestas
ou prximas a elas, sempre em reas de altitude.
Entre elas esto os endmicos assobiador (Tijuca
atra), beija-for-de-topete (Stephanoxis lalandi)
e entufado (Merulaxis ater), alm da borralhara
(Mackenziaena leachii), da garrincha-chorona
(Schizoeaca moreirae), do bacurau-da-telha (Ca-
primulgus longirostris) e do tapaculo (Scytalopus
speluncae). Por essas singularidades, a foresta
alto-montana de suma importncia cientfca.
Nessas matas praticamente no existe sub-bosque,
mas h adensados de Bromeliaceae representadas
por Vriesia, Aechmea e Nidularium. O epiftismo
desempenhado por Orchidaceae, dentre as quais
a belssima Sophronites grandifora.
- Regio ftoecolgica foresta estacional
semidecidual - O grau de caducifoliedade do con-
Bromlia
imperial
Detalhe da
bromlia imperial
Mata Cap3 04RJ.indd 99 2/23/06 11:02:21 PM
100
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
junto forestal a que se refere a sua denominao
est entre 20 e 50% e dependente do clima,
que tem uma estao chuvosa e outra seca. So
quatro as formaes dessa regio ftoecolgica,
mas apenas trs esto parcamente representadas
no Rio de Janeiro:
- Floresta das terras baixas - Os pequenos
remanescentes dessa formao localizam-se no
Municpio de Quissam, entre Macabuzinho e
Dores de Macabu, fora de qualquer unidade de
conservao, citando-se Sterculia chicha (Stercu-
liaceae) e Talisia sp. (Sapindaceae) como espcies
tpicas. A pecuria e o cultivo da cana-de-acar
reduziram drasticamente essa formao.
- Floresta submontana - Situa-se entre os 50 e
os 500 m de altitude, no municpio de Maca, redu-
zida a pequenssimas manchas, sem qualquer tipo
de proteo especfca. O ararib (Centrolobium sp.
- Leguminosae) citado como espcie tpica.
- Floresta montana - a formao que me-
lhor representa a foresta estacional semidecidual
no Estado. Manchas mais signifcativas ocorrem
entre 500 e 1500 m nos municpios de Cordeiro,
Trajano de Moraes e Bom Jardim. Em Itatiaia
e Resende, h manchas menores. A sapucaia
(Lecythis pisonis - Lecythidaceae) uma das
espcies tpicas.
- Regio fitoecolgica floresta ombrfila
mista - Como as regies fitoecolgicas an-
teriores subdivide-se em quatro formaes,
mas no Rio de Janeiro s ocorre a formao
floresta montana. Localiza-se entre os 800 e
os 1.200 m no Parque Nacional da Bocaina.
As espcies tpicas so o pinheiro-do-paran
(Araucaria angustifolia - Araucariaceae) e
pinheirinho-bravo (Podocarpus lambertii -
Podocarpaceae).
Refgio ecolgico
um agrupamento vegetal que apresenta
ftofsionomia e forstica dissonantes daquelas
verificadas nos entornos imediatos. Ocorre,
geralmente, sobre solos litlicos rasos. Das trs
modalidades existentes, apenas o refgio eco-
lgico alto-montano est presente em territrio
fuminense.
Est localizado acima dos 1.500 m, na Serra
do Mar e na Mantiqueira. Em seus lugares de
ocorrncia como Morro do Cuca, Pico do Fra-
de, Antas, Desengano, Bocaina e Itatiaia, ele
aparece logo aps a foresta ombrfla densa
alto-montana, qual se relaciona e , como ela,
local de altas concentraes de endemismos. Em
Antas, entre Petrpolis e Terespolis, 66 das 347
espcies coletadas so endmicas; na Bocaina,
no sul do Estado, so endmicas 30 das 215
espcies registradas; no Desengano, em Santa
Maria Madalena, so 62 endemismos entre 275
espcies registradas; em Itatiaia, local dos mais
pesquisados botanicamente, com 415 espcies
coletadas, h 88 que so endmicas; no Morro
do Cuca, em Petrpolis, h 27 endemismos en-
tre 227 espcies coletadas e, no Pico do Frade,
em Maca, das 124 espcies coletadas, 22 so
endmicas.
A fitofisionomia herbceo-arbustiva,
aberta. As Asteraceae esto signifcativamente
representadas por vrios gneros (Achyrocline,
Baccharis, Chinolaena, Erigeron, Eupatorium,
Mikania, Senecio, Vernonia, Wedelia). As
Bambusacea possuem uma espcie de bambu
Chusquea pinifolia muito freqente nesses
locais, e s neles. Outra exclusiva Cortade-
Perereca
Mata Cap3 04RJ.indd 100 2/23/06 11:02:32 PM
101
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
ria modesta. Inmeras outras famlias esto
representadas por plantas pequenas, como as
Eriocaulaceae e as Scrophulariaceae. No cho,
s vezes, aparecem grandes manchas de lquens,
dos quais Cladonia confusa freqente. Lugares
midos so marcados por Sphagnum purpura-
tum, musgo higroscpico, acidifcador das guas
e propiciador de habitat para a planta carnvora
Drosera vilosa.
Formaes pioneiras
Compreendem os ecossistemas associados
Mata Atlntica e foram caracterizados em trs
reas:
- reas com infuncia marinha - So as
restingas, das quais h uma signifcativa varie-
dade no territrio fuminense. Embora grandes
extenses delas j tenham sido eliminadas, h
ainda bons remanescentes. Esto associadas s
areias quartzosas litorneas depositadas durante o
Quaternrio. Por isso mesmo, so bem represen-
tadas do municpio do Rio de Janeiro em direo
ao litoral norte, onde a Serra do Mar se afasta da
costa e a plancie litornea alcana maior ampli-
tude, especialmente nos municpios de Maca,
Quissam, Campos e So Joo da Barra. No Rio
de Janeiro e nos dois ltimos municpios, entre-
tanto, j foram profundamente descaracterizadas,
delas restando apenas manchas pequenas, resi-
duais e fortemente secundarizadas. As restingas
possuem composies forsticas complexas e
caractersticas vegetacionais variadas, que vo
desde a vegetao rastejante das praias aos es-
paos desnudos com moitas esparsas e s matas
de restinga. Trabalhos recentes tm procurado
tipifcar categorias de vegetao nessas reas, j
que existem profundas diferenas estruturais entre
elas. Um grande nmero de espcies endmicas,
raras e ameaadas de extino fazem parte do
sistema biolgico das restingas.
- reas com infuncia fuviomarinha - So os
manguezais que se instalam em guas calmas do
interior das baas, ocupando, preferencialmente,
fozes de rios. Sua fora bastante simplifcada e
compe-se, basicamente, de trs espcies arbreas:
Rhizophora mangle (Rhizophoraceae), Avicennia
schaueriana (Verbenaceae) e Laguncularia race-
mosa (Combretaceae). Na foz do Rio Paraba do
Sul, ocorre conspicuamente Avicennia germinans.
As maiores reas ocupadas por manguezais esto
na foz do Rio Paraba do Sul e na do Maca, no
fundo da Baa de Guanabara, na Baa de Sepetiba
e no Litoral Sul, em especial em Parati. Como as
restingas, os manguezais, apesar de protegidos por
legislao especfca, tm sido seriamente prejudi-
cados por atividades humanas predatrias.
- reas com infuncia fuvial - So os brejos e
lezrias, que se formam nos baixos cursos dos rios. A
vegetao predominante constituda por herbceas
helbias, das quais a mais caracterstica a cosmo-
polita taboa (Typha domingensis - Typhaceae).
Os manguezais, os brejos e as lagunas lito-
rneas barradas por cordes de restingas consti-
tuem reas midas de especial importncia para
a avifauna migratria.
Fauna
Muitas da reas includas na Reserva da
Biosfera da Mata Atlntica, especialmente aquelas
de domnio privado, dispem de pouca ou nenhu-
ma informao sobre sua fauna. As reas pblicas
protegidas foram mais estudadas, especifcamente
a fauna de vertebrados.
Restinga na
cidade do Rio
de Janeiro
Mata Cap3 04RJ.indd 101 2/23/06 11:02:35 PM
102
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
Entre os mamferos, merecem destaque os
primatas representados pelos macacos guariba
(Alouatta sp), muriqui (Brachyteles arachnoides),
macaco-prego (Cebus apella) e os sagis, sendo
o mais conhecido o mico-leo-dourado (Leon-
topithecus rosalia), mas tendo ainda o tambm
ameaado Callithrix aurita. J o Callithrix jac-
cus, espcie tpica do Nordeste, foi introduzido
no Estado e atualmente pode ser visto desde a
Floresta da Tijuca at nas regies de ocorrncia
do mico-leo-dourado, na regio das baixadas
litorneas.
So encontrados vrios marsupiais (Didelf-
deos), entre eles o gamb (Didelphis marsupialis),
vrias cucas e a rara cuca dgua (Chironectes
minimus) nos riachos que descem da Serra do
Mar. Pertencentes a outros grupos, destacam-se
o tamandu-mirim (Tamandua tetradactyla), a
preguia-de-coleira (Bradypus torquatus), tatus
(Dasypus, Euphractus), o tapiti (Silvilagus), nu-
merosos roedores como o caxinguel (Sciurus),
ourio-caixeiro (Coendou), pre (Cavia), capivara
(Hydrochaeris hydrochaeris), paca (Agouti), cotia
(Dasyprocta), ratos-do-mato (Cricetidae) e o rato-
do-bambu (Cannabaetomys amblionyx). Dentre
os vrios predadores podem ser vistos o cachorro-
do-mato (Cerdocyon), o guaxinim ou mo-pelada
(Procyon), o coati (Nasua nasua), a lontra (Lutra),
irara (Eira barbara), furo (Galictis, Grison) e os
gatos pintados (Felis). O mais importante rptil
da regio o jacar-de-papo-amarelo (Caiman
latirostris). Em algumas reas protegidas ainda
sobrevivem os caititus (Tayassu tajacu).
Apesar de muito desfalcada em suas popu-
laes, a avifauna rica em certas espcies sil-
vestres, com formas importantes de pelo menos
trs tinamdeos: o inhambu-guau (Crypturellus
obsoletus), inhambu-xoror (C. parvirostris) e
inhambu-xint (C. tataupa), alm de, possivel-
mente, o raro macuco (Tinamus solitarius); dos
ardedos comum nas fazendas, partes baixas e
brejos, a gara-boiadeira (Bubulcus ibis), o soc-
mirim (Ixobrycus exilis erytromelas) e garas
brancas (Egretta, Casmerodius); representantes
dos anatdeos, podem ser vistos nas baixadas,
irers (Dendrocygna viduata) e a marreca-ananai
(Amazonetta brasiliensis). Tambm nas partes
baixas comum observar-se o urubu comum
(Coragypis atratus) e, junto mata e encosta das
serras o urubu-caador (Cathartes aura). V-
rios gavies, sendo freqente o gavio-caboclo
(Heterospizias meridionalis), o gavio-peneira
(Elanus leucurus), o gavio pega-pinto ou carij
(Buteo magnirostris), o gaviozinho (Gampso-
nix swainsonii), o gavio-carrapateiro (Milvago
chimachima), alm do j escasso gavio pega-
macaco (Spizaetus tyrannus).
Vrios outros grupos de aves esto represen-
tados, como os saracura-trs-potes (Aramides caja-
nea), frango-dgua-azul (Porphyrula martinica);
columbdeos: vrias pombas, notadamente a bela e
rara pomba-espelho (Claravis godefrida), a pomba-
amargosa (Columba plumbea), rolinhas (Columbi-
na talpacoti), juriti (Leptotila); psitacdeos vrios,
como o periquito-verde (Brotogeris versicolorus),
maitaca (Pionus maximiliani); sabi-cica (Triclaria
malachitacea); cuculdeos alma-de-gato (Piaya
cayana), o comum anu-preto (Crotophaga ani),
como tambm anu-branco (Guira guira) predador
dos ninhos de pardais, rolinhas etc.
Vrias espcies de corujas habitam a regio,
sendo mais comum a coruja-das-igrejas (Tyto alba
suindara), jacurutu (Pulsatrix koeniswaldiana),
a coruja-buraqueira (Speotyto cunicularia) e co-
rujo-de-orelha (Rhinoptynx clamator). Tambm
comuns so os beija-fores (Ramphodon, Eupeto-
mena, Melanotrochilus, Phaetornis, Amazilia).
Relativamente comuns nas reas de mata so
ainda o trogondeo surucu-de-barriga-amarela
(Trogon viridis), a juruva (Baryphthengus ru-
fcapillus), o joo-bobo (Nystalus chacuru) e o
joo-barbudo (Melacoptila striata); os ranfastde-
Mata Cap3 04RJ.indd 102 2/23/06 11:02:35 PM
103
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
os, tucano-de-bico-preto (Ramphastus vitellinus
atiel), maguari-poca (Selenidera maculirostris)
comuns dentro da mata; os picdeos xanxo ou
pica-pau-do-campo (Colaptes campestris), pica-
pau-amarelo (Celeus flavescens), Melanertes
favifrons que aprecia frutos da carrapeteira; o
pica-pau-branco (Leuconerpes candidus).
H vrios outros grupos de aves como arapon-
ga (Procnias nudicollis), polcia-inglesa (Leistes),
joo-de-barro (Furnarius rufus badius), anamb-
branco (Tityra cayana), o comum tangar (Chiro-
xiphia caudata), tesourinha (Muscivora tyrannus),
bem-te-vi (Pitangus sulphuratus), cambaxirra
(Troglodytes aedon), sabi-do-campo (Mimus sa-
turninus), japacamim (Donacobius atricapillus),
sabi-una (Platycichla favipes), sabi-laranjeira
(Turdus rufventris), sabi-poca (T. amaurocha-
linus), guaxe (Cacicus haemorrhous), que tem
seus ninhos pendurados nas rvores perto dos
rios; sara-sete-cores (Tangara seledon), sanhao
(Thraupis), ti-sangue (Ramphocelus bresilius),
trinca-ferro (Saltator similis), pixox (Sporophila
frontalis), coleirinho (S. caerulescens), gaturamo
(Euphonia sp.) e os aliengenas bico-de-lacre
(Estrilda) e pardal (Passer domesticus).
Diversas cobras como a jibia (Boa cons-
trictor), jararacas e jararacuu (Bothrops spp.),
cobras-coral (Micrurus), cobra-cip (Chironius),
caninana (Spilothes), alm de alguns lacertdeos.
O lagarto teju (Tupinambis teguixin) muito
comum, mas tambm ocorrem
formas menores como Ameiva
ameiva e Tropidurus torquatus,
Anolis sp. etc. Nos crregos,
ocorre o raro cgado Hydro-
medusa maximiliani, forma
especializada em viver em frias
guas torrenciais das serras.
farta a fauna de ba-
trquios, com muitas formas
representadas na rea. Tambm
notvel a representao dos
invertebrados, sendo extraordinrio o nmero de
insetos, dos quais podem ser destacados as borbo-
letas azuis do gnero Morpho, a grande mariposa
(Agripina sp) e o marimbondo-caador (Pepsis sp)
que preda aranhas, gafanhotos e esperanas.
Patrimnio espeleolgico
O Rio de Janeiro um estado relativamente
pobre em ocorrncias de cavidades naturais sub-
terrneas. Isso deve-se ao fato de que, em todo o
territrio fuminense, existe apenas um pequeno
bolso de calcrio, a rocha mais propcia for-
mao de cavernas devido dissoluo por guas
fuviais ou pela percolao das guas das chuvas,
situado nos municpios de Cantagalo e Itaocara,
na regio serrana.
Esse bolso de calcrio, no entanto, a
despeito de suas reduzidas dimenses (se
comparado aos fenomenais carstes de Minas
Gerais, Bahia, Gois e So Paulo, por exem-
plo) explorado h muitos anos por fbricas
de cimento, que representam uma ameaa
concreta s poucas cavernas ali existentes. Por
essa razo, e por serem as cavidades naturais
subterrneas feies geolgicas expressamente
protegidas pela legislao vigente, encontra-se
tramitando na Assemblia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro, projeto de lei de autoria do
deputado Carlos Minc (PT/RJ) criando o Parque
Bem-te-vi
Mata Cap3 04RJ.indd 103 2/23/06 11:02:45 PM
104
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
Estadual das Cavernas Fluminenses, que obje-
tiva preservar essas cavernas, das quais a mais
importante a Gruta Novo Tempo, reservando
porm signifcativa poro do calcrio para a
continuidade da indstria cimenteira, de forma
a no prejudicar a economia daquela regio. A
criao desse parque, na verdade, representaria
um novo vetor de desenvolvimento local, basea-
do na explorao racional do turismo ecolgico,
no apenas atravs da visitao s grutas mas,
tambm, da prtica de outros esportes e ativi-
dades ao ar livre, tais como caminhadas, vo
livre e passeios a cavalo.
As demais cavidades naturais subterrneas
do Rio de Janeiro resumem-se a pequenas grutas
criadas por falhas nos granitos e gnaisses que
constituem a litologia predominante no Estado,
bem como pelo encontro, ou superposio, de
grandes blocos dessas mesmas rochas. Apesar
de sua modesta expressividade, em termos es-
peleolgicos, algumas dessas grutas chegaram a
adquirir grande fama local e, em conseqncia,
certa importncia turstica. A ttulo de exemplo,
podemos citar a Gruta do Acai, na Ilha Grande;
a Gruta do Mero, no Morro da Urca; os Olhos
e a Orelha, na Pedra da Gvea; a Gruta do Pre-
sidente, no Parque Nacional da Serra dos rgos;
a Gruta Paulo e Virgnia e a Gruta do Morcego, no
Parque Nacional da Tijuca, dentre outras.
Situao da Reserva da
Biosfera da Mata Atlntica
Limitando-nos rea defnida hoje para o Rio
de Janeiro, j se reconhece ofcialmente que uma
primitiva cobertura vegetal, composta de forestas
densas, cobria cerca de 97 % de sua rea total.
Ali se situavam as diversas matas de altitude, de
encostas serranas, de planaltos interiores, plan-
cies costeiras, alagadios, restingas e mangues,
abrangendo assim os denominados ecossistemas
associados Mata Atlntica. Os restantes 3%
eram do domnio de campos de altitude, de rochas
expostas, de praias desnudas de vegetao e de
superfcies lquidas de lagos, rios e lagoas.
Caso existisse, nessa poca remota, uma
imaginria Reserva da Biosfera, ela certamente
abrangeria 100% da rea total do Estado, abrigan-
do a totalidade da riqueza de uma biodiversidade
natural, praticamente inalterada pelo homem
pr-histrico.
At a chegada dos colonos portugueses, na
primeira dcada do Sculo XVI, o trecho fuminen-
se, provavelmente, ainda guardava seus aspectos
naturais em mais de 93% do territrio do Estado,
podendo descontar-se um suposto dbito de 4%,
devido alterao antropognica indgena, con-
seqente existncia de aldeamentos, roadas e
queimadas que resultariam da ocupao esparsa,
mas pondervel, das muitas tribos indgenas na-
tivas. Mesmo assim, dentro da imagem virtual de
uma imaginria Reserva da Biosfera, ainda estaria
mantida, ento, praticamente toda a biodiversidade
natural primitiva.
No incio do Sculo XVI, comeou, e poste-
riormente prosseguiu em escala crescente, a hist-
rica ocupao humana europia colonial no Rio de
Janeiro e a conseqente e progressiva alterao da
vegetao natural. As causas so bem conhecidas:
a extrao de pau-brasil, seja em contrabando, seja
em comrcio legalizado pela Coroa portuguesa;
a demanda de grossos lenhos para as numerosas
Flor de eritrina
Mata Cap3 04RJ.indd 104 2/23/06 11:02:53 PM
105
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
e imensas caldeiras de derretimento da gordura
de baleias; a procura de combustvel lenhoso em
geral para uso da crescente populao; o corte de
madeiras-de-lei para construo naval e civil; a
derrubada, queimada e limpeza de extensas reas
forestais para fns de pecuria, agricultura e a
ocupao de terrenos para o estabelecimento e
desenvolvimento de povoados, vilas e cidades.
O desenvolvimento civilizatrio passou a ter
um componente que, em relao quela imaginria
Reserva da Biosfera, poderia ser expresso mate-
maticamente numa razo inversa. Ou seja, quanto
maior a ocupao humana, menor a biodiversida-
de. Tnhamos entrado decididamente num plano
inclinado de aceleradas e progressivas perdas, quer
em reas naturais, quer em biodiversidade.
Se na primeira metade do Sculo XX tivs-
semos tido uma virtual Reserva da Biosfera, nela
ainda estariam contidos talvez 60% do territrio
fuminense. Na realidade, com o ritmo de devasta-
o descontrolada que se veio impondo, acabamos
entrando no ano 2000 com uma delimitao legal
para a atual Reserva da Biosfera da Mata Atlntica
que se limitou a abranger 40% da rea total do Es-
tado. E isso, porque essa Reserva no se prendeu
ao percentual remanescente de forestas e incluiu
tambm entornos de ilhas, restingas, margens de
rios e lagoas, nascentes de
cursos dgua, reas outro-
ra forestais e outros stios,
previstos na definio de
uma Reserva da Biosfera. De
qualquer maneira, ficamos
afnal mais pobres em 60%,
no que concerne a reas para
conservao do antigo do-
mnio das matas atlnticas
fuminenses.
Mas o mais grave que
grande parte da riqueza de
nossa biodiversidade natural
se perdeu para sempre. Essa afrmao admis-
svel, pois mesmo sem termos idia real da pri-
mitiva quantidade e qualidade da biodiversidade
fuminense, a constatao da alterao radical
dos ambientes em imensas reas e a conseqente
destruio dos habitats, torna lgica a ilao: nos-
so saldo em biodiversidade desceu a nvel muito
baixo e est hoje ameaado criticamente de baixar
ainda mais, na medida que no tomemos medidas
urgentes e efetivas para conservar o que nos restou
de fauna, fora e ambientes naturais.
Fazer previses para o futuro, na total au-
sncia de uma bola de cristal, seria um exerccio
ilegal da profsso de futurologia. Sem embargo,
um esforo de imaginao nos permitiria ter duas
vises baseadas em hipteses antagnicas.
Na primeira hiptese, no tendo havido
modifcao radical do padro comportamental
humano, que continuar orientado e dirigido
para um sempre crescente consumismo, sob o
paradigma do imediatismo de interesses, verif-
car-se- uma inexorvel e incessante diminuio e
rarefao em todas as reservas naturais, inclusive
naquelas protegidas por lei. A biodiversidade ser
reduzida a um mnimo de espcies vegetais e
animais domesticadas ou amansadas, ocorrendo
comumente surtos de doenas bio-sanitrias ou
Bromlias, em
Terespolis
Mata Cap3 04RJ.indd 105 2/23/06 11:03:02 PM
106
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
Araucrias
em
Terespolis
pragas biolgicas contra as quais se exercer cres-
centemente pesado e oneroso controle qumico,
com conseqncias imprevisveis. As reas rurais
estaro substitudas por reas semi-rurais total-
mente aculturadas ou por reas urbanas imensas e
extensas, resultando na formao de megalpolis
conurbadas. A antiga Reserva da Biosfera da Mata
Atlntica foi um episdio histrico, sepultado pela
adoo do lema do desenvolvimento a todo custo,
por parte de governantes e governados, sendo um
dos pilares dos comportamentos o alastramento do
ecoturismo descontrolado. No ser, realmente,
um mundo admirvel.
Na segunda alternativa, vencendo afnal o
bom senso sobre o imediatismo, as zonas urbanas,
atravs de numerosos e bem distribudos parques,
jardins e arborizao e de densa arborizao dos
logradouros, tudo adequadamente planejado e
bem executado, funcionaro como complementos
das zonas rurais, onde se implantaro, fnalmente,
os planos de uso da terra que faltavam. Como
maior resultante, sero efetivadas as faixas ou zo-
nas de corredores biolgicos, interligando todas as
unidades de conservao. Estas, plenamente im-
plantadas e mantidas, formaro ncleos preciosos
para a garantia da manuteno da biodiversidade.
Haver satisfatria conscientizao ecolgica e
efetiva vontade dos lderes e dos liderados, e a
Reserva da Biosfera da Mata Atlntica no Estado
do Rio de Janeiro ser uma realizao modelar,
funcionando efcazmente num quadro geral da
melhoria da qualidade de vida. Verdadeiramente,
ser um admirvel mundo novo.
Pode-se afanar, luz dos atuais conhecimen-
tos, que no h outras alternativas; a acomodao
a meios termos ou a tentativa de conciliao entre
as duas hipteses certamente sero procedimentos
paliativos que acabaro por nos levar a cair, cedo
ou tarde, na primeira hiptese acima descrita.
Denise Maral Rambaldi secretria-geral da
Associao Mico-Leo-Dourado e coordenadora
do Colegiado Regional Sudeste da Reserva da
Biosfera da Mata Atlntica.
A REDE NO ESTADO: pg. 298
AMEAAS NO RJ: pgs. 199, 215, 219
e 224
BIBLIOGRAFIA: pg. 316
PROJETOS NO RJ: pgs. 267 e 275
Mata Cap3 04RJ.indd 106 2/23/06 11:03:08 PM
107
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
Minas Gerais
Diante das montanhas de Minas, no difcil
perceber o ritmo acelerado da devastao de
um dos cinco biomas mais crticos do mundo,
ameaado de desaparecer da Terra. So sculos
de explorao predatria, que comeou com a
chegada dos primeiros colonizadores e continua
at os dias atuais.
Em Minas Gerais, a Mata Atlntica cobria
49% da rea do Estado, estando reduzida a 7% de
sua cobertura original. Como agravante, a maior
parte do que restou da vegetao de Mata Atlntica
no Estado se encontra em remanescentes muito
pequenos e nas mos de proprietrios privados.
Apesar de fragmentada, a Mata Atlntica de
Minas ainda abriga uma alta diversidade de esp-
cies da fora e da fauna, incluindo vrias espcies
endmicas e ameaadas. Alm da fragmentao,
vrias so as ameaas diretas biodiversidade
dessa foresta, incluindo-se, entre outros, o des-
matamento para expanso das culturas agrcolas e
da pecuria, trfco de vida silvestre, urbanizao
e desenvolvimento industrial.
Fitofsionomias
A Mata Atlntica que ocorre em Minas Ge-
rais bastante heterognea, com uma fsionomia
vegetacional que vai desde a foresta ombrfla
densa at as forestas estacionais semideciduais.
Alm dessas tipologias, as reas de contato entre
essas formaes, as matas ciliares e os remanes-
centes incrustados em outras formaes, tambm
so includas no bioma.
De acordo com o nvel atual de conhecimen-
to, o bioma Mata Atlntica contm mais diver-
sidade de espcies que a maioria das formaes
forestais amaznicas, bem como elevados nveis
de endemismos. Isso ocorre porque essa forma-
o subdividida em vrios tipos fsionmicos,
devido infuncia das variaes de latitude e
altitude. Alm dessa variao nas tipologias tpi-
cas de mata, existem ainda regies cobertas por
campos de altitude e alguns enclaves de tenso por
contato. A interface com essas reas cria, assim,
condies particulares de fauna e fora.
Casarios
antigos
na regio
histrica
F
o
t
o
:
G
a
b
r
i
e
l
a
S
c
h
f
f
e
r
Mata Cap3 05MG.indd 107 2/23/06 11:04:38 PM
108
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
Os remanescentes de Mata Atlntica carac-
terizam-se pela vegetao exuberante, com acen-
tuado higroftismo (adaptadas a altas umidades).
Entre as espcies mais comuns encontram-se
algumas briftas, cips e orqudeas. Estima-se
que 8 mil espcies vegetais brasileiras sejam
endmicas da Mata Atlntica. Entre essas, 60%
so espcies arbreas e os 40% restantes de no-
arbreas. Entre as bromlias, 70% so endmicas
e, entre as palmeiras, 64%.
Segundo a Fundao SOS Mata Atlntica, o
tipo fsionmico da foresta ombrfla densa pode
ser encontrado em pequenas manchas na regio
nordeste do Estado (Vale do Jequitinhonha - divisa
com o estado da Bahia), no leste (Vale do Mucuri
- na divisa com o estado do Esprito Santo) e no
sul, na regio da Serra da Mantiqueira. Trata-se
de uma foresta com rvores bastante altas e sub-
bosque bem sombreado. Como conseqncia de
feies topogrfcas inclinadas a fortemente incli-
nadas, ocorre uma boa penetrao de luz nessas
formaes, fator que, associado alta umidade,
ocasiona o aparecimento e a manuteno de co-
munidades epifticas bastante ricas e abundantes,
o que talvez seja o trao mais marcante dessas for-
maes. Qualquer observador, mesmo que leigo,
consegue perceber tal caracterstica em qualquer
trecho mais preservado dessas forestas. Famlias
como Orchidaceae, Bromeliaceae e Araceae,
normalmente constituem os grupos predominantes
nessas comunidades, tanto em riqueza como em
abundncia de espcies.
A foresta ombrfla mista o tipo vegeta-
cional menos representado no Estado. Ocorre em
uma pequena mancha no sul do Estado, tambm
na regio da Serra da Mantiqueira. Pode ocorrer
formando ilhas forestais de formato mais ou
menos circular e tamanho varivel em meio s for-
maes campestres, constituindo os capes, ou
ento formando forestas contnuas de composio
e estrutura variveis. Alm da araucria, tpica
dessa formao, espcies das famlias Lauraceae,
Myrtaceae e Anacardiaceae, por exemplo, so
bastante comuns. As espcies mais importantes
na composio dos estratos arbreos destas fo-
restas so bastante variveis, como resultado de
condies ambientais diferenciadas ao longo de
toda a rea de ocorrncia dessa formao.
A foresta estacional semidecidual o tipo de
formao atlntica mais comum no Estado, co-
brindo quase toda a extenso da rea de ocorrncia
natural desse bioma. Tambm por isso o tipo fsio-
nmico que vem sofrendo mais com os processos
de fragmentao. Ela constituda por elementos
arbreos, pereniflios at decduos, que atingem 30
a 40 metros de altura, sem formar cobertura supe-
rior contnua, alm de elementos arbustivos, lianas
e epftas, estas em menor quantidade e riqueza
quando comparadas com as formaes da foresta
ombrfla densa. A diversidade do estrato superior
desse tipo de formao maior do que na foresta
ombrfla mista, devido fertilidade do solo, e
podem aparecer espcies como a peroba (Aspidos-
perma polyneurom), o cedro (Cedrella fssilis) e a
cabreva (Myrocarpus frondosus). No sub-bosque
destacam-se espcies da famlia Meliaceae.
Ips-amarelos
Mata Cap3 05MG.indd 108 2/23/06 11:04:55 PM
109
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
Uma das principais caractersticas da fauna
que vive na Floresta Atlntica, assim como em
outras forestas tropicais do mundo, o fato de ser
diversifcada e marcada pela presena de muitas
espcies endmicas. Vrias dessas espcies possuem
baixas densidades populacionais, o que caracteriza
um grande nmero de espcies raras. Alm da fauna
terrestre, a Mata Atlntica abriga tambm uma rica
fauna de peixes que habitam os pequenos riachos
que permeiam as reas forestadas. Muitos desses
peixes orientam-se pela viso para localizar alimento
ou parceiros reprodutivos, bem como para seus com-
portamentos sociais, e so incapazes de sobreviver
em guas turvas ou claras, sujeitas luminosidade
intensa, quando ocorre a remoo da foresta.
Biodiversidade
Minas Gerais abriga cerca de 70% das
espcies de mamferos que ocorrem em todo o
Domnio da Mata Atlntica. A grande maioria
das espcies de mamferos registradas no Estado
ocorre na Mata Atlntica, sendo aproximadamente
um tero (65) exclusivas desse bioma. Este , por
exemplo, o caso do muriqui-do-norte (Brachyteles
hypoxanthus), o maior dos macacos neotropicais.
Fica at difcil imaginar que, no passado, cerca
de 400 mil muriquis compartilhavam a grande
biodiversidade da Mata Atlntica. Hoje, sobraram
aproximadamente 1.300 indivduos.
Para a avifauna, das 785 espcies que ocor-
rem no Estado - aproximadamente a metade da
riqueza das aves do Brasil -, 54 so endmicas da
Mata Atlntica.
Nesse contexto, a Mata Atlntica merece ser
destacada tambm pela sua extraordinria fauna de
rpteis e, principalmente, de anfbios endmicos.
Do total das 340 espcies de anfbios conhecidos
para Minas Gerais, 70% so encontradas nesse
bioma. A considervel riqueza para esse grupo
atribuda principalmente ao elevado ndice pluvio-
mtrico, alta diversidade estrutural dos habitats
arbreos e disponibilidade de ambientes midos
dos habitats de Mata Atlntica. As forestas de
altitude destacam-se, entre as diferentes tipologias
do bioma, como reas de notveis endemismos
para anfbiofauna, a propiciados pelo isolamen-
to geogrfco de conjuntos serranos, como por
exemplo o complexo da Mantiqueira.
Considerado o maior remanescente de Mata
Atlntica do Estado, o Parque Estadual do Rio Doce
(PERD) abriga 77 espcies de mamferos, o que
equivale a 30% de todas as espcies de mamferos
da Mata Atlntica. Para os primatas, ocorrem sete
espcies, o que equivale a 40% de todas as espcies
de primatas dessa foresta. Destaca-se tambm a
ocorrncia de carnvoros de grande porte, com o
registro recente de populaes de um dos maiores
felinos com ocorrncia no Brasil, como o caso da
ona-pintada (Panthera onca). Cerca de 16% das
Ip-rosa
Bromlia com
borboleta
Mata Cap3 05MG.indd 109 2/23/06 11:05:07 PM
110
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
espcies registradas nesta unidade de conservao
so endmicas ao bioma Mata Atlntica.
Em relao s aves, foram registradas, at os
dias atuais, 325 espcies no PERD. Esse nmero
considerado bastante expressivo, pois corresponde a
47% das aves registradas para o bioma Mata Atln-
tica, 41% da avifauna mineira e 19% da avifauna
brasileira. Destaca-se a ocorrncia de 20 espcies
de aves consideradas ameaadas de extino de
acordo com a nova lista brasileira de espcies da
fauna ameaadas de extino. Esse nmero tam-
bm muito expressivo, visto que corresponde a 25%
das aves brasileiras ameaadas de extino e a 27%
das aves ameaadas de extino da Mata Atlntica.
Do total de espcies registradas para o Parque, 25
so listadas como ameaadas de extino em Minas
Gerais, como o caso do muriqui (Brachyteles hy-
poxanthus) e da ona-pintada (Panthera onca).
Unidades de conservao
As unidades de conservao so instrumen-
tos fundamentais para a reverso da crise de bio-
diversidade. No entanto, os resultados alcanados
por esse instrumento iro depender de como elas
so selecionadas, planejadas, criadas ou geridas.
Para agravar ainda mais a situao, as reas pro-
tegidas existentes so continuamente ameaadas
por invases, explorao clandestina de madeira
e aes de ocupao desordenada em seu entorno,
gerando cada vez mais isolamento.
As reas protegidas do estado de Minas Gerais
cobrem um total de 4.306.562,16 ha distribudos em
382 unidades de conservao. Na Mata Atlntica,
existem dois Parques Nacionais (Capara e Itatiaia),
11 Parques Estaduais (como Rio Doce, Brigadeiro,
Serra do Rola Moa e Itacolomi), uma Reserva
Biolgica Federal (Rebio) e aproximadamente 65
reservas particulares (RPPNs). No entanto, por causa
da grande fragmentao das forestas do bioma, as
reservas so muito pequenas, o que impede a con-
servao de espcies no longo prazo. Alm disso,
a distribuio dessas reservas bastante esparsa ao
longo da paisagem, o que difculta o trnsito das
espcies e as necessrias trocas genticas para sua
perpetuao e no garante representatividade signif-
cativa dos diferentes habitats e ecossistemas na Mata
Atlntica, que precisam ser conservados.
Apesar de crescentes iniciativas, a superfcie
de Minas Gerais coberta pela Mata Atlntica est
muito aqum do mnimo sugerido para a manuten-
o da biodiversidade nesse bioma, apontando, e
ao mesmo tempo justifcando, a urgncia de uma
estratgia de ao para reverter esse quadro.
Causas da destruio
Minas Gerais perdeu cerca de 121.000 hec-
tares de Mata Atlntica entre 1995 e 2000 (Fun-
Pintasslgo
Ona-pintada
Mata Cap3 05MG.indd 110 2/23/06 11:05:24 PM
111
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
dao SOS Mata Atlntica, 2002). A explorao
predatria de espcies vegetais - para lenha, car-
vo, alimentao e construo - ainda persiste, o
que tem levado muitas reas extino. Extensas
reas de Mata Atlntica do Vale do Rio Doce, por
exemplo, onde as siderurgias primeiramente se
instalaram, foram completamente exterminadas,
fazendo com que o desmatamento avanasse sobre
outras reas de mata, principalmente as dos vales
dos rios Mucuri e Jequitinhonha.
A perda de habitats foi apontada como o
principal fator responsvel pelo declnio de 82% da
fauna ameaada de Minas Gerais. A maior parte
dessas espcies, cerca de 60%, est associada Mata
Atlntica. Estudos recentes, desenvolvidos a partir da
anlise de imagens de satlite, continuam mostrando
um acentuado ritmo de substituio de extensas reas
de forestas por empreendimentos agropecurios,
obras de infra-estrutura e expanso urbana.
A perda de biodiversidade decorrente da
intensa presso antrpica sobre a Mata Atlntica
do Estado foi expressa em nmeros quando da
elaborao das listas da fauna e da fora ameaa-
das de extino. Nos estudos coordenados pela
Fundao Biodiversitas, 178 espcies de animais
e 538 de plantas foram consideradas ameaadas
no Estado. Desse total, com relao fauna, 66
espcies ocorrem na Mata Atlntica, sendo 29
espcies de aves, 19 de mamferos, trs espcies
de anfbios e trs de rpteis, alm de 12 espcies
de insetos (besouros, borboletas e liblulas).
Instrumentos de conservao
Em Minas Gerais, existem vrios instrumen-
tos criados para auxiliar na conservao da bio-
diversidade do Estado e principalmente daquela
associada Mata Atlntica.
O Atlas de reas Prioritrias para a Conser-
vao da Biodiversidade se tornou um documento
extremamente importante no que diz respeito a
polticas de proteo da biodiversidade no Esta-
do. Esse instrumento, reconhecido pelos rgos
ambientais estaduais, vem auxiliando na criao
de unidades de conservao e na priorizao de
programas para conservao de fora e fauna.
A verso atualizada do documento aponta, por
exemplo, que, das 26 novas reas indicadas em
relao verso anterior, 25 se encontram dentro
do bioma Mata Atlntica. Isso pode ser o resul-
tado dos programas para a conservao da Mata
Atlntica, que contriburam para o conhecimento
da fauna e fora de novas reas e possibilitaram a
sua incluso na lista de reas prioritrias. Nelas
se enquadram, por exemplo, a rea de Barbacena
e Barroso, um grande remanescente de foresta
com algumas espcies endmicas (como por
exemplo, a aranha Corinna selysi) ou a rea de
Entre-Folhas, um remanescente de Mata Atlnti-
ca com mais de 500 hectares, que abriga grande
nmero de espcies ameaadas e endmicas e
alta riqueza de espcies, como os primatas sagi-
da-serra (Callithrix faviceps) e sau (Callicebus
personatus nigrifrons).
O Programa de Proteo da Mata Atlntica
(Promata) um programa resultante da coo-
perao entre o Brasil e a Alemanha, que visa
a contribuir para a proteo de remanescentes
e a recuperao de reas degradadas na Mata
Cidade de Poos de Caldas
Mata Cap3 05MG.indd 111 2/23/06 11:05:45 PM
112
Atlntica de Minas Gerais. O Programa envolve
o fortalecimento de suas UCs (regularizao fun-
diria parcial, obras e equipamentos, planos de
manejo), o monitoramento e controle da cobertura
vegetal (levantamento da cobertura vegetal), a
preveno e combate aos incndios forestais, o
desenvolvimento sustentvel do entorno das UCs
e a promoo de reas de conectividade entre os
fragmentos de foresta.
Entre os novos programas para a Mata Atlnti-
ca, podemos destacar o Programa Espcies Ameaa-
das, voltado para a proteo das espcies em risco de
extino desse bioma. Resultado de parceria entre
a Biodiversitas e o Centro de Pesquisas Ambientais
do Nordeste (Cepan), com o apoio do Fundo de
Parceria para Ecossistemas Crticos, o Programa,
implementado em 2003, apia fnanceiramente
projetos voltados para a recuperao das espcies
ameaadas e a conservao de seus habitats. En-
tre as espcies benefciadas no Estado de Minas
atravs do apoio desse Programa esto o macaco-
prego-depeito-amarelo (Cebus xanthosternos), o
muriqui-do-norte (Brachyteles hypoxanthus) e o
surubim-do-Doce (Steindachneridion doceana).
reas prioritrias para
conservao
Na Mata Atlntica mineira, as reas indicadas
como potencialmente importantes no atlas atuali-
zado das reas Prioritrias para a Conservao da
biodiversidade esto diretamente relacionadas ao
seu nvel de fragmentao e de alterao da vege-
tao natural, a qual persiste apenas em pequenos
remanescentes isolados. A existncia de um gran-
de nmero de remanescentes vegetais pequenos e
prximos entre si, como no sul de Minas, levou
proposio de grandes reas prioritrias para a
investigao e formao de corredores de biodi-
versidade, centradas no levantamento biolgico e
em estudos que promovam a conectividade entre
esses fragmentos.
O maior volume de informaes em algumas
reas da Mata Atlntica mineira, com a maior
concentrao de registros de espcies ameaadas
de extino, possibilitou aos especialistas que
elaboram o Atlas a identifcao de um complexo
de reas de extrema importncia biolgica, como
os Parques Estaduais do Rio Doce e da Serra do
Brigadeiro. A grande presso antrpica refora
a necessidade de criao de outras unidades de
conservao nessas regies.
Na Mata Atlntica que ocorre no Sul de Mi-
nas, foram indicadas diversas reas situadas na
Serra da Mantiqueira, como a regio do Parque
Nacional do Itatiaia e de Poos de Caldas.
Devido ao baixo conhecimento que se tem
sobre a Mata Atlntica que ocorre na regio do
Jequitinhonha, h menos reas a indicadas, as
quais incluem o extremo nordeste do Estado.
Contudo, trs novas reas de importncia extrema
para conservao foram propostas para a regio.
Menina de populao tradicional
Rio So Francisco
Mata Cap3 05MG.indd 112 2/23/06 11:06:10 PM
113
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
No Domnio da Mata Atlntica, foi desenha-
do o corredor leste que envolve as reas de im-
portncia biolgica especial - Serra do Brigadeiro
e Parque Nacional do Capara - conectando-se
com o grande corredor central da foresta atlntica
(sul da BA, ES e MG). Esto includas tambm
as reas de Proteo Ambiental (APAs) de Pedra
Dourada e Santa Rita do Itueto, extensas reas
ainda bem preservadas, porm desconhecidas
foristicamente.
Um outro corredor, o Sudeste, engloba re-
manescentes primrios de foresta atlntica com
alta conectividade, incluindo as forestas urbanas
de Juiz de Fora, as reas prioritrias do Parque
Estadual do Ibitipoca, de Bom Jardim de Minas,
de Bocaina de Minas e de Monte Verde e a APA
Ferno Dias. A regio altamente explorada pela
atividade agropecuria, reforestamento de pinus
e especulao imobiliria.
A regio da foresta atlntica norte, acima do
Rio Doce, apresenta-se em expressivos fragmentos,
em sua maioria desconhecida foristicamente. O
corredor Mucuri/Jucuruu, proposto no novo Atlas
mineiro, preserva remanescentes de foresta atlnti-
ca onde a agropecuria expande suas fronteiras. J o
corredor Jequitinhonha inclui reas de importncia
biolgica muito alta, como Santa Maria do Salto,
que apresenta remanescente forestal em bom es-
tado de conservao, com alta riqueza especfca e
com infuncia forstica da foresta atlntica do sul
da Bahia e da Serra do Mar, no Sudeste do Brasil.
A Reserva Biolgica da Mata Escura, por exemplo,
guarda remanescentes signifcativos de foresta
atlntica de grande importncia ecolgica.
As reas mais prejudicadas da foresta atln-
tica so justamente as mais importantes do ponto
de vista conservacionista. So as remanescentes
das matas do leste e do sul mineiros, que abrigam
os ltimos exemplares de gneros e espcies de
plantas e animais ameaados de extino.
Os remanescentes de Mata Atlntica locali-
zados em regies metropolitanas, como a de Belo
Horizonte, Viosa e Juiz de Fora, tambm foram
apontados como de interesse para conservao.
Nesses remanescentes, existe um grande nmero
de registros de espcies ameaadas de extino e
so regies, em geral, muito bem inventariadas. A
grande presso antrpica causada pela presena de
grandes cidades refora a urgente necessidade de
criao de outras unidades de conservao nessas
localidades.
Yasmine Antonini e Glucia Moreira Drummond
so bilogas da Fundao Biodiversitas
A REDE NO ESTADO: pg. 293
AMEAAS EM MG: pgs. 199, 219 e 221
PROJETOS EM MG: pgs. 259 e 275
Parque Nacional do Capara
Mata Cap3 05MG.indd 113 2/23/06 11:06:28 PM
114
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
O Esprito Santo possui rea de 45.597 km
2
,
sendo que 100% de sua superfcie eram cobertas
por Mata Atlntica. Segundo o Instituto Brasi-
leiro de Geografa e Estatstica (IBGE-2004), a
Mata Atlntica no Estado composta por foresta
ombrfla, foresta estacional semidecidual, for-
maes pioneiras (brejos, restingas, mangues)
e refgio vegetacional da Serra do Capara. O
relevo caracteriza-se como montanhoso, com
altitudes que vo desde o nvel do mar at 2.897
m, cujo ponto culminante o Pico da Bandeira
(Serra do Capara).
Do ponto de vista geolgico, Amorim (1984)
considerou que o Esprito Santo pode ser dividido
em duas zonas principais: zona dos tabuleiros e
zona serrana. A zona dos tabuleiros compreende
o terrao litorneo, plano ou levemente ondulado,
de altitude mdia em torno de 50 m. No Esprito
Santo, ocupa uma faixa estreita ao sul, entre as
plancies e as primeiras escarpas das serras inte-
rioranas. Ao norte de Vitria alarga-se, tornan-
do-se expressiva entre Linhares e So Mateus e
prolonga-se at o sul da Bahia. A zona serrana,
localizada mais ao interior, formada por vales
profundos e escavados, nos prolongamentos da
Serra da Mantiqueira.
Na zona dos tabuleiros, ocorre principalmen-
te a foresta ombrfla densa, sendo caracterizada
por uma vegetao com exemplares de altura
mdia acima de 30 m. As rvores so espaadas,
o sub-bosque pouco denso e apresentam-se
poucas epftas. J a zona serrana caracterizada
pela foresta ombrfla aberta, de altitude, com o
interior fechado, vegetao rasteira e arbustiva
Esprito Santo
Parque Estadual da Pedra Azul na regio serrana
Mata Cap3 06ES.indd 114 2/23/06 11:08:28 PM
115
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
abundantes, com altura mdia de 25 m. De 300 a
800 m de altitude, forma-se a foresta de encosta,
mais mida. Acima de 1.200 m, assume carac-
tersticas de foresta montana, com rvores um
pouco mais baixas e espcies tpicas. Acima de
2.000 m, aparece a vegetao de campos (refgios
vegetacionais). A zona serrana foi intensamente
explorada, onde se desenvolveu uma capoeira de
regenerao, alta e rica em imbabas.
As plancies costeiras ou plancies litor-
neas geralmente tm a elas associado o termo
restinga, esse, porm, de signifcado bastante
diverso. Nesse texto, vamos considerar que o
termo restinga se refere ao tipo de vegetao
que recobre as plancies costeiras. Sendo assim,
podemos caracterizar as plancies costeiras por
um conjunto de tipos de vegetao, designado
muitas vezes como complexo, que varia desde
formaes herbceas, passando por formaes
arbustivas, abertas, fechadas, chegando a forestas
cujo dossel varia em altura, mas geralmente no
ultrapassam os 20 m.
As regies costeiras caracterizam-se por
apresentarem diversas feies morfolgicas:
dunas, mangues, esturios, baas e recifes, de-
correntes da atuao de diferentes fatores como
ventos, mars, ondas e correntes.
A vegetao do litoral encontra-se dividida
em dois tipos bsicos: a vegetao das praias,
dunas e restingas e a vegetao dos mangues. Nas
praias, apresenta-se principalmente de porte her-
bceo e nas dunas o porte arbustivo. Na restinga,
pode-se encontrar uma mata de aspecto xeromr-
fco, que em zonas alagadas torna-se paludosa. As
restingas do Esprito Santo localizam-se desde a
divisa da Bahia at a divisa com o Rio de Janeiro,
ao longo do litoral, por 411 Km de extenso. Li-
mitam-se em alguns pontos praia, mas em 80%
de sua rea, avanam para o interior.
A presena de manguezais favorecida pela
ocorrncia de uma faixa contnua de terrenos
baixos, de substratos de vasa de formao recen-
te ao longo do litoral. Esses se desenvolvem na
desembocadura dos rios, lagunas e reentrncias
costeiras, onde existe encontro das guas dos
rios com a do mar. So formados por arbustos e
rvores com poucas espcies, semelhantes fsio-
nmica e fsiologicamente. Nas zonas de maior
infuncia das mars, aparecem mangue-vermelho
(Rhizophora mangle) e mangue-preto (Avicenia
schaueriana) e nas zonas de menor infuncia
encontra-se mangue-branco (Laguncularia race-
mosa). Considerando sua extenso, os manguezais
mais importantes do Estado so os do Rio So
Mateus, Rio Barra Seca, complexo Piraqu-A-
Mirim, Baa de Vitria, Baa de Guarapari, Rio
Benevente, Rio Itapemirim e Rio Itabapoana.
Histrico da ocupao
Em 1503, foi fundado o primeiro vilarejo
no Estado, no atual municpio de Vila Velha. A
derrubada de forestas para formao de roas e
retirada de lenha contribuiu para o processo de
degradao da Mata Atlntica, que foi intensif-
cado com a extrao indiscriminada de madeira
de lei. A ocupao da faixa costeira foi favorecida
pelo acesso e transporte por via martima e pela
riqueza e diversidade de recursos existentes nas
reas midas, manguezais, esturios e baas.
A entrada para o interior foi proibida pela
Coroa, a partir da descoberta das minas de ouro
em 1710, quando o governador capito-geral do
Estado do Brasil, Loureno de Almada, por ordem
de D. Joo V de Portugal, determinou a suspenso
da explorao das minas existentes na Capitania
do Esprito Santo, com a proibio da construo
de estradas para as Minas Gerais, sob pena de
confsco de bens e degredo para Angola.
O Esprito Santo, no obstante a proximidade
com o Rio de Janeiro, fcou, assim, por trs scu-
los e meio, coberto de forestas que comeavam
Mata Cap3 06ES.indd 115 2/23/06 11:08:28 PM
116
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
prximas ao mar, atravessando todo o territrio,
galgando as serras do Capara e dos Aimors e
penetrando no vizinho estado de Minas Gerais.
Em 1810, cerca de 85% do territrio capixaba
encontrava-se coberto pela Mata Atlntica.
Esse panorama se manteve por um bom
tempo, sendo que em 1888, apenas 15,4% do ter-
ritrio era ocupado pela populao humana. Essa
ocupao se limitava ao litoral, cujos principais
ncleos eram, ao norte, So Mateus e, ao sul, Nova
Almeida, Guarapari, Benevente e Itapemirim.
Nesses ltimos, a principal atividade econmica
era a produo de cana-de-acar, enquanto no
norte do Estado era a produo de farinha de
mandioca para exportao.
Com a expanso da atividade cafeeira pro-
veniente da regio do Vale do Paraba, a partir da
segunda metade do sculo XIX, teve incio a ocu-
pao da regio central do Estado pelos primeiros
imigrantes italianos e alemes, com conseqente
devastao da cobertura forestal primitiva. A
introduo da cultura cafeeira trouxe uma forte
mudana na economia e passou a ser a principal
atividade econmica do Estado. O desmatamento
descontrolado, aliado s condies geogrfcas
de relevo dominante e com solos altamente sus-
ceptveis eroso, promoveu impactos sobre o
ambiente natural: eroso do solo, contaminao
das guas e assoreamento dos rios.
No fnal do sculo XIX, a produo agrria
do Estado se caracterizava pela monocultura ca-
feeira e pela pequena propriedade. Mesmo assim,
em 1920, somente 28,6% das terras do Estado
eram ocupadas pelos estabelecimentos agrcolas
e apenas 17,6% dessa rea eram cultivadas.
Novos imigrantes europeus, que chegavam
ao Estado fugindo das conseqncias das guerras
mundiais, receberam do governo glebas de 30
ha para implantao da cultura do caf. Entre os
anos 1920 e 1950 era muito comum que novas
derrubadas de forestas fossem realizadas para
Restinga
Mata Cap3 06ES.indd 116 2/23/06 11:08:43 PM
117
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
expanso da cultura devido a pocas de bom
preo do caf. Com a queda dos preos, as ter-
ras eram abandonadas ou se transformavam em
pastagens, caracterizando o ciclo mata-caf-pas-
tagens. Como conseqncia, houve devastao
da cobertura vegetal primitiva de grande parte
das terras do Estado e utilizao predatria dos
recursos naturais.
Em relao regio norte (que no incio da
colonizao no fora objetivo de explorao),
a construo da estrada de ferro Vitria-Minas
garantiu fcil acesso e permitiu em 1908 o po-
voamento da regio sul do Rio Doce. Quanto
margem norte, s em 1916 teve incio o primeiro
povoamento ao longo do Rio Pancas e tambm a
instalao da primeira fazenda de cacau em Li-
nhares e Regncia. O desenvolvimento tornou-se
acelerado a partir de 1928, quando foi construda a
ponte sobre o Rio Doce, ligando Colatina s terras
do norte. Posteriormente, a explorao de madeira
tornou-se uma alternativa economicamente segu-
ra, destacando-se essa regio como grande produ-
tora e exportadora deste recurso, principalmente
para Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Na dcada de 1950, a foresta de vrzea e a
vegetao pantanosa, que eram muito freqentes
ao longo de toda costa esprito-santense, estavam
quase totalmente destrudas, sendo mais facilmen-
te encontradas nas proximidades do Rio Doce. J
em relao vegetao de encostas e de altitude, a
destruio ocorreu tanto por ao de madeireiros
quanto por carvoeiros. A demanda para produo
de dormentes para atender rede ferroviria e de
carvo para alimentar a indstria siderrgica, tam-
bm contribuiu com o processo de desmatamento
irracional e sem critrios.
O declnio da explorao das forestas tro-
picais do sudeste da sia infuenciou fortemente
para que o Brasil assumisse o papel de produtor
e fornecedor de madeiras e derivados para aten-
der ao mercado internacional. Nos anos 1960,
a indstria madeireira era a principal atividade
econmica geradora de empregos (empregando
33,13% do total de operrios da indstria de trans-
Floresta e
cachoeira em
Santa Teresa
Mata Cap3 06ES.indd 117 2/23/06 11:08:59 PM
118
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
formao), explorando grandes reas do Estado
at o esgotamento dos recursos forestais, quando,
na dcada de 1970, o setor entra em decadncia
em virtude da escassez de matria-prima.
Ainda nos anos 1970, teve incio um grande
incremento no desenvolvimento industrial e o Es-
tado passou a fazer parte do processo de expanso
da economia brasileira, atravs da implantao e
desenvolvimento de setores estratgicos como
celulose, metalmecnica, siderurgia, entre outros.
A instalao de grandes projetos industriais no
Estado, como a Aracruz Celulose, Companhia
Siderrgica de Tubaro, Usina de Pelotizao e
Petrobras, aceleraram o processo de urbanizao
e de concentrao populacional, agravando o qua-
dro de destruio dos remanescentes em funo
da demanda energtica, com inevitvel impacto
sobre a qualidade de vida da populao.
O eucalipto, principal matria-prima para a
produo de celulose, passou a ocupar signifcati-
vas parcelas de terra na regio das bacias dos rios
So Mateus, Barra Seca e Itanas, onde inclusive
reas de foresta nativa foram substitudas por
grandes extenses de plantaes homogneas.
No fnal da dcada de 1970, o reforestamento j
ocupava rea equivalente a 119.303 ha.
Nos anos 1980, houve novo crescimento dos
desmatamentos para plantao de caf, em funo
da alta dos preos, sendo que, com a queda dos
preos, muitas dessas reas eram abandonadas
e transformadas em pastagens. Outro fator que
concorreu para a perda da cobertura forestal,
nessa dcada, foi a demanda energtica para suprir
os setores residencial, agropecurio e industrial,
principalmente o siderrgico, o que gerou uma
equivalncia em rea desmatada superior mdia
de 30.000 ha/ano.
A evoluo dos remanescentes forestais e
ecossistemas associados no Esprito Santo, no
perodo de 1985 a 1995, foi discutido em trabalho
realizado pela Fundao SOS Mata Atlntica,
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
e o Instituto Socioambiental (1998). Os remanes-
centes forestais em 1985 perfaziam 465.414 ha,
sendo reduzidos para 442.930 ha em 1990 e para
410.391 ha em 1995. Esses nmeros demonstram
um aumento da intensidade do desmatamento no
Estado, de 4,83%, no perodo de 1985 a 1990,
para 7,35%, no perodo de 1990 a 1995. Em
relao restinga, no ano de 1985, a rea era de
33.313 ha, sendo reduzida para 31.967 ha em
1990 e posteriormente para 31.091 ha em 1995.
Houve nesse caso uma reduo da velocidade
de desmatamento, caindo de 4,04% para 2,74%.
Em relao ao mangue, de 1985 a 1990, no foi
registrado nenhum desmatamento, sendo que, no
Regio
litornea
Mata Cap3 06ES.indd 118 2/23/06 11:09:11 PM
119
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
perodo de 1990 a 1995, houve desmatamento de
271 ha representando um decremento de 3,80%
da cobertura.
O monitoramento da cobertura florestal
para o perodo 1995 a 2000 amplia a escala de
mapeamento para 1:50.000, o que permite iden-
tifcar fragmentos forestais, desmatamentos e
reas em regenerao a partir de 10 ha, enquanto
anteriormente somente reas acima de 25 ha
eram possveis de serem mapeadas. Alm dessas
alteraes metodolgicas, o processo de mapea-
mento passa a incluir a identifcao de formaes
arbreas sucessionais secundrias em estgio
mdio e avanado de regenerao, diferindo dos
mapeamentos anteriores, nos quais considerava-
se como remanescentes forestais apenas as for-
maes arbreas primrias e aquelas em estgio
avanado de regenerao.
Essas modifcaes no permitem uma an-
lise comparativa com os estudos realizados pela
prpria Fundao SOS Mata Atlntica para os
perodos anteriores. Por exemplo, os resultados
apresentados para o perodo 1995-2000 indicam
uma cobertura forestal nativa para o Esprito
Santo na ordem de 30,28%, o que corresponde
a 1.398.435 ha, enquanto que os dados de 1995
indicavam 8,9% de remanescentes.
Situao atual e perspectivas
futuras
Apesar do avano da conscincia con-
servacionista, o legado deixado pelo processo
exploratrio dos recursos naturais gerou uma
fragilidade na relao homem/ambiente. As ati-
vidades antrpicas, em muitos casos, se tornaram
insustentveis, principalmente pela baixa capaci-
dade de absoro dos impactos apresentada pelos
sistemas naturais.
Floresta ombrfla densa
Mata Cap3 06ES.indd 119 2/23/06 11:09:26 PM
120
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
Como exemplo dessa fragilidade, podemos
citar o uso do solo do Estado, que est distribudo
basicamente em: lavouras (permanente, tempor-
ria e temporria em descanso), pastagens (natural
e plantada), forestas naturais, forestas plantadas
e terras produtivas no utilizadas, que totalizam
3.339.022 ha, ou seja, 73,23% da extenso terri-
torial do Estado. As pastagens cobrem 1.821.069
ha, constituindo o uso predominante do territrio
capixaba. Sua maior concentrao na mesorre-
gio Litoral Norte Espiritossantense, totalizando
618.070 ha. Dentre os 13 municpios integrantes
dessa mesorregio, o municpio de Linhares con-
centra 236.544 ha (38,7% do total de pastagens
da mesorregio).
Vale ressaltar que, na mesorregio Litoral
Norte Espiritossantense, existem fsionomias mui-
to ameaadas, seja pelo isolamento em pequenas
fraes, seja pela presso das atividades antrpi-
cas, como o caso da foresta dos tabuleiros, que
vem passando ao longo do tempo por um processo
de desmatamento motivado principalmente pela
implantao e expanso de atividades como fru-
ticultura, silvicultura e pecuria. Nessa regio,
tambm podemos observar a vegetao forestal
da vrzea, que ocupa os solos aluviais, sujeitos por
vezes a inundaes. Essa vegetao pode ser ob-
servada na Floresta Nacional de Goytacazes. Essa
ftofsionomia foi muito explorada principalmente
no tocante utilizao para implantao da cultura
do cacau. A prtica de brocar a foresta (mata
de cabruca), retirando indivduos do sub-bosque e
mantendo apenas os existentes no dossel, promo-
vem um retardamento dos eventos sucessionais,
por vezes at inviabilizando a sustentabilidade do
ecossistema forestal.
Uma fsionomia singular e tambm extre-
mamente ameaada o Vale do Suruaca, loca-
lizado nos municpios de So Mateus, Linhares
e Aracruz. Esse era considerado um verdadeiro
pantanal, pois se tratava da maior vrzea contnua
do Pas, com 145.000 ha ao norte do Rio Doce e
35.000 ha ao sul. Hoje, infelizmente ele encontra-
se em processo de desertifcao, o que aumenta
em muito sua importncia, devido fragilidade
que o ambiente apresenta. Atravs de aes exe-
cutadas (principalmente drenagem) pelo extinto
Departamento Nacional de Obras e Saneamento
(DNOS), entre os anos 1965 a 1970, o patrimnio
biolgico foi depredado com o intuito de aumentar
a fronteira agrcola na regio.
Outra atividade de potencial impactante
a indstria que est concentrada no litoral, com
destaque para as empresas de produo de ao,
celulose, produtos qumicos, petrleo e gs na-
tural. J no interior, concentram-se a produo
txtil, as confeces e a atividade mineradora.
Como refexo do desenvolvimento industrial, a
populao, que at 1960 era distribuda predo-
minantemente na rea rural (71,55%), passou,
depois do processo de industrializao ocorrido
a partir da dcada de 1970, a ser composto por
79,52% de populao urbana. Desses, 46,06%
ocupam a regio da Grande Vitria, abrangida
pelos municpios de Cariacica, Serra, Viana, Vila
Velha e Vitria.
Diante desse cenrio de grande presso
urbana, as restingas e os manguezais so os
ecossistemas mais ameaados. A vegetao de
restinga tem sido utilizada como combustvel
pelas comunidades humanas, mas um dos maio-
res problemas, alm da ocupao desordenada,
tem sido a explorao irregular de areia para a
indstria da construo civil. Os manguezais
Orqudea
Mata Cap3 06ES.indd 120 2/23/06 11:09:28 PM
121
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
encontram-se bastante comprometidos devido
ao processo histrico de uso indevido de seus
recursos, destacando-se lanamento de esgotos,
disposio de lixo, aterros e invases, utilizao
da madeira para construo e combustvel, utili-
zao da casca do mangue vermelho para extrao
do tanino e pesca predatria.
O Esprito Santo possui ainda uma das
maiores reservas de mrmore e granito do Pas,
sabidamente atividades com grande potencial de-
gradador. Em 2002, o volume de rochas processa-
das no Estado representou 78,5% das exportaes
brasileiras do produto.
Tambm vale ressaltar que, nos ltimos dois
anos, foram registrados no Estado cerca de 50%
das descobertas de petrleo do Brasil. As novas
reservas petrolferas, confrmadas recentemente
no sul do Estado, elevam a produo para 2,1
bilhes de barris, o que representa cerca de 20%
do total de reservas do Pas.
Todas essas atividades representam uma
forte presso sobre a Mata Atlntica. Por outro
lado, aes tm sido desenvolvidas no intuito
de melhorar sua conservao, como exemplo o
projeto Conservao da Biodiversidade da Mata
Atlntica do Estado do Esprito Santo, realizado
pelo Instituto de Pesquisas da Mata Atlntica
(IPEMA) em parceria com o Governo do Estado
e a Conservao Internacional do Brasil. Esse
composto por trs subprojetos:
- Elaborao da Lista de Espcies da Flora e
da Fauna Ameaadas de Extino - Foi concludo
com a realizao de um workshop no perodo de
13 a 15 de outubro de 2004, que contou com a
participao de especialistas de vrias instituies
de pesquisa brasileiras com relevante atuao no
Esprito Santo. Como resultado, integraram a lista
197 espcies da fauna e 753 da fora.
- Avaliao do Manejo das Unidades de Con-
servao Estaduais e Federais - Levantou informa-
es sobre a avaliao no manejo nas unidades de
conservao estaduais e federais em quatro mbi-
tos: ambiental, social, econmico e institucional,
traando um perfl das UCs no Estado.
- Defnio de reas e Aes Prioritrias
para a Conservao - Foi concluda no perodo
de 6 a 9 de abril de 2005, com a realizao do
workshop para a defnio das reas e Aes
Regio de
entorno
do Parque
Nacional do
Capara
Mata Cap3 06ES.indd 121 2/23/06 11:09:40 PM
122
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
Prioritrias para Conservao da Biodiversidade
da Mata Atlntica no Estado do Esprito Santo.
Como resultado do workshop, defniram-se 28
reas prioritrias para a conservao da Mata
Atlntica.
O Ibama tem realizado aes, como a cria-
o de quatro novas unidades de conservao,
sendo uma costeira e trs marinhas. A rea costei-
ra tem como proposta a criao de uma Reserva
de Desenvolvimento Sustentvel na regio da
foz do Rio Doce e compreende uma superfcie
Liblula
de aproximadamente 8.550 ha de vegetao de
restinga, reas alagadas e pastagens, situada no
entorno da Reserva Biolgica de Comboios, e
abrange parte dos municpios de Aracruz e Li-
nhares. O principal objetivo da unidade garantir
a utilizao sustentvel e a conservao dos
recursos naturais renovveis, tradicionalmente
utilizados pelas populaes extrativistas da re-
gio de entorno da Reserva Biolgica (Rebio)
de Comboios e o estabelecimento de uma zona
de amortecimento para ela.
Mata Cap3 06ES.indd 122 2/23/06 11:09:46 PM
123
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
As unidades de conservao marinhas pro-
postas incluem o Parque Marinho de Santa Cruz,
em Aracruz; o Parque Marinho da Ilha do Francs,
em Pima, e a Reserva Extrativista de Barra Nova,
em So Mateus. Com relao criao de novas
Reservas Particulares do Patrimnio Natural
(RPPN), o Ibama tem feito uma divulgao mais
direcionada aos pequenos proprietrios rurais e
tem atendido a diversos pedidos de esclareci-
mentos.
Aes importantes tm sido realizadas
pelo Comit Estadual da Reserva da Biosfera
do Estado do Esprito Santo. Pode-se citar a
ampliao da rea da Reserva da Biosfera da
Mata Atlntica no noroeste do Estado, com
aproximadamente 100.000 ha, gerando a ex-
pectativa de estabelecimento de novas unidades
de conservao na regio. Tambm devemos
ressaltar o Projeto de Implantao do Corredor
Central da Mata Atlntica que tem como obje-
tivos a manuteno e o incremento do grau de
conectividade entre fragmentos forestais que
permitam maximizar o fuxo de indivduos das
diferentes espcies que compem as comuni-
dades biticas.
Em fevereiro de 2000, foi assinado pelo Go-
verno Federal e o Governo do Estado do Esprito
Santo o Pacto Federativo. Uma das medidas que
integram o pacto o projeto Ao Integrada de
Fiscalizao para a Mata Atlntica no Estado do
Esprito Santo.
Diante desse cenrio, conclui-se que, apesar
do aumento da presso das atividades antrpi-
cas sobre a Mata Atlntica no Esprito Santo,
a sociedade tem se mobilizado e conseguido
avanos importantes no tocante conservao.
Mesmo assim, urgente que se repense o modelo
de desenvolvimento adotado no Estado, pois a
conservao dos recursos naturais fundamen-
tal para gerar um equilbrio homem/ambiente.
Sem esse equilbrio, no possvel chegar a um
desenvolvimento econmico (que seja sustent-
vel), a conservao da biodiversidade (que sem
dvida a nossa maior riqueza) e a uma melhoria
da qualidade de vida da populao, a qual deve
ser o nosso maior objetivo.
Parque Nacional do Capara
Mata Cap3 06ES.indd 123 2/23/06 11:09:55 PM
124
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
Fisionomias
De acordo com o IBGE (2004), a cober-
tura vegetal natural do Estado se classifca
como:
Floresta ombrfila densa - Essa re-
gio recobre uma rea de 3.124.300 ha ou
68,5% do territrio do Estado. Ocorre sob
um clima ombrflo e dependente de chuva,
sem perodo biologicamente seco durante
o ano e excepcionalmente com dois meses
de umidade escassa, com grande umidade
concentrada nos ambientes dissecados das
serras. As temperaturas mdias oscilam entre
22 e 25C. Caracteriza-se por solos de baixa
fertilidade, licos ou distrfcos.
Na foresta ombrfla densa, apresen-
tam-se rvores de grande porte nos terraos
aluviais e nos tabuleiros tercirios, enquanto
nas encostas martimas as rvores so de
porte mdio. Alguns gneros so tpicos e ca-
racterizam bem essa regio da encosta atln-
tica at o Rio Doce, como Parkia, Manilkara e
Attalea. Essa regio subdividida em quatro
formaes, de acordo com as diferenas de
topografa e fsionomias forestais:
Floresta ombrfla densa das terras bai-
xas - Situada entre os 4 de latitude Norte e
os + de 16 de latitude Sul, a partir dos 5 m
at os 100 m acima do mar; de 16 de latitude
Sul a 24 de latitude Sul de 5 m at 50 m;
de 24 de latitude Sul a 32 de latitude Sul
de 5 m at 30 m. uma formao que em
geral ocupa as plancies costeiras, capeadas
por tabuleiros pliopleistocnicos do Grupo
Barreiras. Essa fsionomia comumente clas-
sifcada como foresta de tabuleiro. Rizzini
(1997) defniu a Floresta dos Tabuleiros como
o corpo forestal que ocorre desde Pernam-
buco at o Rio de Janeiro e caracteriza sua
rea central como imponente e defne sua
distribuio como sendo da regio sul da
Bahia at o norte do Esprito Santo. Trata-se
de uma faixa litornea, por dentro das alvas
Bromlias e cactus na restinga
Mata Cap3 06ES.indd 124 2/23/06 11:10:08 PM
125
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
areias quaternrias (ditas arees na Bahia
austral), que suportam a restinga. O nome
tabuleiro refere-se topografa, j que essa
uma faixa quase plana, elevando-se de 20 a
200 metros acima do nvel do mar. Segundo
IBGE (1977), os tabuleiros formam, no norte
do Esprito Santo, nveis de baixas altitudes
(de 30 a 60 metros) nos interfvios dos rios
Mucuri e Itanas, sendo precedidos na faixa
mais prxima do mar pelas baixadas e pelos
cordes arenosos quaternrios. Sua origem
continental poderia ser explicada pela intensa
eroso das rochas dos macios cristalinos
sob condies provavelmente secas. Aps
a deposio, teriam sido esses depsitos
afetados pela tectnica e pelas oscilaes do
nvel do mar, ocorridas durante o Quaternrio.
Sua fora rica e diversifcada e apresenta
vrias espcies arbreas endmicas.
Floresta ombrfla densa submontana
- Situada nas encostas dos planaltos e nas
serras entre os 4 de latitude Norte e os 16
de latitude Sul a partir dos 100 m at 600 m;
de 16 de latitude Sul a 24 de latitude Sul
de 50 m at 500 m; de 24 de latitude Sul a
32 de latitude Sul de 30 m at 400 m. Suas
principais caractersticas so os fanerftos de
alto porte, alguns ultrapassando os 30 m.
Ruschi (1950) e Rizzini (1979) descre-
vem essa vegetao como mata de encosta,
sendo a mata que se desenvolve sobre o
arqueano em altitudes de 300 at 800 m.
Seu interior muito fechado devido vege-
tao rasteira e subarbustiva que muito
densa. A altura de suas rvores chega aos
30 m no mximo. uma paisagem absolu-
tamente tpica de elevaes arredondadas
e sucessivas, que se expande atravs de
amplas extenses do Esprito Santo, onde
so interiores. Sua estrutura e composio
nos diferentes estandes so variveis,
contudo possvel caracteriz-las devido
ao: desenvolvimento menor, as rvores do
andar superior apresentam de 15 a 25 m de
altura e no ultrapassam 60 cm de dimetro;
ausncia quase completa de lianas, epftas,
plantas macrfitas, palmeiras e de fetos
arborescentes (com excluso dos vales e
grotas); e falta ou escassez de sapopemas
e razes adventcias superfciais.
Floresta ombrfla densa montana - Si-
tuada no alto dos planaltos e/ou serras entre
os 4 de latitude Norte e os 16 de latitude
Sul a partir dos 600 m at 2.000 m; de 16
de latitude Sul a 24 de latitude Sul de 500
m at 1500 m; de 24 de latitude Sul at
32 de latitude Sul de 400 m at 1.000 m. A
estrutura forestal do dossel uniforme (20 m)
representada por ecotipos relativamente
fnos com casca grossa e rugosa, folhas
midas e de consistncia coricea.
Floresta ombrfla aberta - A fsionomia
forestal de rvores mais espaadas, com
estrato arbustivo pouco denso, com clima
com mais de dois e menos de quatro meses
secos, temperatura mdia de 24 e 25C.
Caracteriza-se pela presena de arbustos
e muitas palmeiras, especialmente do gnero
Attalea, conhecida como indai-au. Esse tipo
de foresta encontrado em pequenas reas
localizadas a noroeste e a sudeste, ocupando
130.800 ha ou 2,87% da extenso territorial
do Estado. Ocorre sobre a litologia do Pr-
Cambriano, situada no planalto do Capara,
entre Venda Nova e Ibatiba, com altitudes que
variam entre 1.000 e 1.200 m. Ocorre ainda na
regio de Domingos Martins, em uma pequena
faixa perpendicular ao eixo da rodovia BR-
Mata Cap3 06ES.indd 125 2/23/06 11:10:08 PM
126
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
262, de Alfredo Chaves a Santa Leopoldina,
com altitudes entre 600 e 800 m.
Floresta estacional semidecidual - Essa
fsionomia est determinada por duas esta-
es, uma chuvosa e outra seca, que condi-
cionam a sazonalidade foliar dos elementos
arbreos dominantes. A porcentagem de
rvores caduciflias no conjunto situa-se en-
tre 20% e 50%. So dominantes os gneros
neotropicais Tabebuia, Swietenia, Parate-
coma e Cariniana, entre outras, em mistura
com os gneros paleotropicais Erythrana e
Terminalia e com os gneros australsicos
Cedrela e Sterculia. No Estado, essa regio
ftoecolgica compreende 1.047.900 ha (23%
da superfcie).
A floresta estacional semidecidual
subdividida em quatro formaes, sendo
que somente duas delas so encontradas
no Esprito Santo:
Floresta estacional semidecidual de
terras baixas - Encontrada nos tabuleiros cos-
teiros tercirios do grupo Barreiras e reas
de litologia do Pr-Cambriano entre 5 e 50 m,
em poucos agrupamentos remanescentes,
no municpio de Itapemirim, em Itapeco.
Floresta estacional semidecidual sub-
montana - Prpria das reas de litologia do
Pr-Cambriano e relevo dissecado, ocorren-
do prximo cidade de Cachoeiro de Itape-
mirim, em altitudes entre 50 e 500 m.
Refgio vegetacional - So agrupamen-
tos vegetais que destoam da ftofsionomia
predominante da regio. Podem ser divididos
em montano e alto montano. De acordo com
o levantamento do Radam-Brasil, no Esprito
Pico do Cristal
Mata Cap3 06ES.indd 126 2/23/06 11:10:23 PM
127
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
Santo ocorre somente o tipo alto montano,
encontrado em altitudes superiores a 1.500
m. o caso dos campos de altitude presentes
no Parque Nacional do Capara. A cobertura
graminide intercalada por pequenos arbus-
tos, cuja composio apresenta um alto ndi-
ce de gneros e famlias endmicas, sendo
que as mais freqentes so: Euphorbiaceae,
Melastomataceae e Rubiaceae.
Savanas - As reas cobertas por sava-
nas no Estado so consideradas de origem
paleogeogrfca. Ocorrem em uma pequena
rea ao norte da cidade de Linhares, na
Reserva Natural da Vale do Rio Doce, ocu-
pando cerca de 30 km
2
. Constituem-se de
comunidades herbceas em meio vege-
tao forestal, que se instalam sobre solos
arenosos, azonais, caracterizando dois tipos
distintos de vegetao: muununga e nativo,
como so conhecidos localmente.
As forestas de muununga ocorrem em
solos muito arenosos, em pequenas man-
chas dentro da foresta de tabuleiro. Nessa
foresta, as rvores do andar superior pos-
suem altura total que varia de 7 a 10 metros,
com suas copas, algumas vezes, se tocando
e formando um dossel contnuo. Entretanto,
mais comumente, o dossel apresenta-se des-
contnuo, o que possibilita a penetrao dos
raios solares, em alguns locais, at o solo. As
rvores emergentes so freqentes, embora
suas alturas geralmente no excedam 20 m,
mas o sufciente para que toda ou quase toda
a sua copa esteja localizada acima das rvo-
res do andar superior. As epftas so bastan-
te comuns na rea, podendo ser considerada
uma das caractersticas mais marcantes
da foresta de muununga. Esse epiftismo
elevado pode ser atribudo co-existncia
de locais sombreados e muito ensolarados,
proporcionados tanto pela descontinuidade
do dossel como pela grande quantidade de
clareiras existentes.
O nativo caracteriza-se por uma vegeta-
o de camftas pioneiras, com a presena
de plantas lenhosas de pequeno porte. Em
lugares onde a gua da chuva fca estagnada,
a foresta de muununga degenera, transfor-
mando-se numa espcie de cerrado ou re-
vestimento arbustivo. s vezes, por causa de
aes antrpicas ou por episdios naturais,
essa vegetao pode degenerar ainda mais
e transformar-se em nativos. Sendo assim,
denominam-se nativos manchas de solo
constitudas de areia pura, cuja vegetao
formada de grama dura e samambaia, sendo
que essa ltima forma verdadeiros tapetes,
cobrindo parcialmente essas manchas.
Formaes Pioneiras - So as que re-
cobrem os terrenos do quaternrio recente
(holoceno) e esto presentes ao longo do lito-
ral, ao longo dos cursos dgua e ao redor de
depresses fechadas que acumulam gua,
como os pntanos e as lagoas. Caracterizam-
se por terrenos instveis, cujos sedimentos
so infuenciados pelos processos de acumu-
lao fuvial, marinha, lacustre, fuviomarinha
e elica. As fsionomias so variveis de acor-
do com as diferentes condies ambientais.
De acordo com o IBGE (1987), as for-
maes pioneiras podem ser divididas em
quatro tipos de formaes principais:
rea de infuncia fuvial - Esto presen-
tes nas plancies aluviais permanentemente
ou periodicamente inundadas que ocupam
extensas faixas situadas ao longo dos rios. A
vegetao caracterstica herbcea-grami-
nide com destaque para o gnero Panicum;
Mata Cap3 06ES.indd 127 2/23/06 11:10:23 PM
128
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
AMEAAS NO ES: pgs. 199, 219 e 224
A REDE NO ESTADO: pg. 292
BIBLIOGRAFIA: pg. 316
o encharcamento do solo pode ser o fator
limitante para o desenvolvimento da vege-
tao lenhosa. No Esprito Santo, ocorre no
extremo norte, na regio do Rio Itanas e no
extremo sul, na regio do Rio Itabapoana.
rea de infuncia fuviomarinha herb-
cea - Ocorre em solos predominantemente
arenosos, formados por deposies de
sedimentos fuviais e marinhos. No Esprito
Santo, ocorre ao longo do litoral, ao norte do
Rio Doce, cujas plancies inundadas ou inun-
dveis so muito utilizadas para pastagens,
a partir da utilizao de sistemas para dre-
nagem do excesso de gua. Nas reas mais
midas, esto presentes os gneros Typha
(taboa) e Montricardia (aninga). Nas regies
mais elevadas e que no so alcanadas
pelas cheias, aparecem ncleos de forestas
individualizadas, cujas espcies tm grande
poder de adaptao a solos lixiviados, tais
como: Aspidosperma sp., Scheffera sp. e
Tapirira guianensis.
rea de infuncia fuviomarinha arbrea
- So os manguezais que ocorrem normal-
mente associados a solos de vrzeas, sob a
infuncia das mars e que ocupam os estu-
rios dos rios. O mangue constitudo por uma
comunidade serial arbrea, bastante homo-
gnea, cujas espcies mais freqentes so:
o mangue-vermelho (Rhizophora mangle),
mangue-branco (Laguncularia racemosa) e
o mangue-amarelo (Avicenia germinans). No
Esprito Santo, est presente na regio de
Vitria, Conceio da Barra, em Barra Nova,
municpio de So Mateus, nos esturios dos
rios Piraqueau e Santa Rosa, em Aracruz,
em Guarapari, em Anchieta e na Barra do
Rio Itapemirim.
rea de infuncia marinha - Essas for-
maes predominam no litoral sobre solos
arenosos e so cobertos por vegetao de
restinga. Essa vegetao apresenta diversas
fsionomias que vo desde herbcea (mais
prxima praia e que formam diferentes est-
gios sucessionais em direo ao interior) at
alcanar uma vegetao arbrea com rvo-
res de at 15 m de altura. No Esprito Santo,
ocorre praticamente ao longo de todo o litoral,
em faixas cuja largura varivel, desde o sul
at o extremo norte do Estado.
Alessandro de Paula Engenheiro Florestal,
doutorando em Ecologia e Recursos Naturais,
mestre em Botnica e consultor do Instituto de
Pesquisas da Mata Atlntica (Ipema)
Mata Cap3 06ES.indd 128 2/23/06 11:10:24 PM
129
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
Bahia
A Mata Atlntica na Bahia distribui-se por
cinco regies: Chapada Diamantina-Oeste, Litoral
Norte, Baixo Sul, Sul, Extremo-Sul. Essas regies
apresentam caractersticas ecolgicas, histrias de
ocupao humana, usos do solo e presses antrpi-
cas distintas. Diversos ciclos econmicos sucede-
ram-se nos domnios da Mata Atlntica na Bahia:
pau-brasil, cana-de-acar, ouro, diamantes, caf,
jacarand, gado, algodo, cacau e recentemente
monocultura de eucalipto.
Das cinco regies da Mata Atlntica na
Bahia, trs so sucintamente apresentadas abaixo
e situam-se ao sul da Baa de Todos os Santos no
Corredor Central da Mata Atlntica (CCMA): o
conjunto delas chamado genericamente de Sul
da Bahia. No entanto, distinguimos as sub-regies
Baixo Sul, Sul (tambm conhecida como Regio
Cacaueira) e Extremo Sul, por apresentarem rea-
lidades socioambientais muito distintas.
O Baixo Sul, entre os rios Paraguau e de
Contas, apresenta estrutura fundiria diversif-
cada e antiga desde assentamentos at grandes
propriedades corporativas com mosaicos de
fragmentos forestais e plantaes de cravo, den-
d e seringueira, e extrao de piaava. Poucos
remanescentes forestais ainda sofrem desmata-
mentos para plantios comerciais e alimentares,
mas a explorao madeireira ilegal intensa.
Inclui a Baa de Camamu, extensa zona estuari-
na, com trechos nicos de manguezais, forestas
de restinga e campos nativos e a Ilha de Tinhar
(Morro de So Paulo), que recebe grande aporte
de turistas e novos vetores de presso surgem, em
especial a carcinicultura e a indstria de gs e leo
implantadas a partir da Baa de Camamu.
A Regio Sul ou Cacaueira, limitada pelos
rios de Contas e Jequitinhonha, considerada a re-
gio mais tradicional do cultivo do cacau no sistema
cabruca (cacau cultivado sombra de rvores rema-
nescentes), com estrutura fundiria dominada por
pequenos e mdios proprietrios. O cacau/cabruca
domina, deixando grande nmero de fragmentos de
mdio e pequeno portes isolados nas encostas mais
altas dos morros e em reas de difcil acesso.
Manguezal
da regio de
Canavieiras
Mata Cap3 07BA.indd 129 2/23/06 11:13:01 PM
130
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
Nos anos 1990, o surgimento da vassoura-
de-bruxa, doena devastadora provocada pelo
fungo Crinipellis perniciosa e a queda do preo
do cacau no mercado internacional incentivaram
a explorao madeireira dos remanescentes e das
cabrucas, alm da converso de cabrucas em
pastos e cafezais, provocando a multiplicao
dos desmatamentos ilegais e incentivando o setor
madeireiro do Sul e Extremo Sul da Bahia. Nesse
perodo, quase um tero dos 600.000 hectares cul-
tivados com cacau foram desmatados. O prejuzo
para a Mata Atlntica revela-se assustador. Hoje
ainda, para disseminar clones de cacau resistentes
ao fungo que causa a doena, a Comisso Exe-
cutiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac)
recomenda o raleamento das cabrucas em 50%, o
que traz novas ameaas manuteno da cober-
tura forestal na regio.
O Extremo Sul, entre o Rio Jequitinhonha e
a divisa com o estado de Esprito Santo, rea de
ocupao mais recente e tradicionalmente madei-
reira, tem paisagem hoje dominada por pecuria
extensiva e monocultura de eucalipto, com rema-
nescentes forestais espalhados. Essa regio con-
centra o maior conjunto de remanescentes de Mata
Atlntica de grande extenso de todo o Nordeste
do Brasil. Encontra-se ali, portanto, uma das mais
importantes redes de unidades de conservao do
Corredor Central, totalizando 264.600 hectares de
matas e recifes de corais protegidos: quatro par-
ques nacionais - Descobrimento, Monte Pascoal,
Pau-Brasil e Abrolhos - e uma reserva extrativista
Corumbau. As pequenas bacias hidrogrfcas
protegidas por parques nacionais protegem ainda
os recifes de coral e outros ecossistemas marinhos
no parcel dos Abrolhos, regio mais rica em reci-
fes de coral do Atlntico Sul.
Nessa regio, a atividade econmica princi-
pal foi, desde o sculo XIX, a explorao madei-
reira. Mesmo assim ainda era coberto por mais
de 80% de foresta na dcada de 1970, quando
Cacau secando na rua, em Canavieiras
Jindiba
Mata Cap3 07BA.indd 130 2/23/06 11:13:18 PM
131
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
foi aberta da Rodovia BR-101. Ali, conheceu um
intenso processo de desmatamento, no modelo
amaznico: produo de carvo, depois implan-
tao de pastagens de baixa produtividade e, mais
recentemente, plantaes de caf, mamo e agora
monocultura de eucalipto. Estima-se que hoje res-
tem menos de 0,5% da cobertura forestal original,
em fragmentos maiores de 400 hectares. Mais 3%
de remanescentes forestais esto distribudos em
fragmentos menores.
At 2001, projetos de extrao madeireira,
acobertados por insustentveis planos de ma-
nejo, se concentravam em grandes remanes-
centes, principalmente no entorno dos parques
nacionais. A atividade est hoje suspensa.
No entanto, existem ainda focos de explora-
o clandestina, principalmente para carvo,
pranches e confeco de artefatos de madeira
(industrianato). Um estudo realizado pela Flora
Brasil, em novembro de 2004, apontou o consu-
mo anual de madeira nativa para industrianato
prximo aos 30.000 m
3
, envolvendo mais de
540 fbricas e a derrubada, em mdia, de cerca
de cem rvores por dia.
Impactos e desafos
A Mata Atlntica da Bahia, apesar abrigar
os remanescentes mais signifcativos da regio
Nordeste, sofre desmatamentos em toda sua ex-
tenso. Os ecossistemas associados, de mangue,
restinga e mussununga ecossistema arbustivo ou
herbceo no tabuleiro tercirio (campos nativos
ou cheirosos), remanescente da ltima glaciao e
adaptado a solos arenosos pobres e cidos de tipo
podzol hidromrfco, impedindo o crescimento de
rvores; no reconhecido nos mapas de vegeta-
o -, so bem mais restritos e localizados, mas
tambm esto intensamente degradados. Vrios
fatores interagem de forma complexa e contri-
buem para essa situao.
Floresta
ombrfla
densa em
Itacar
Mata Cap3 07BA.indd 131 2/23/06 11:13:21 PM
132
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
A maioria das fazendas de pecuria na regio
no possui Reserva Legal (RL) e as pastagens
muitas vezes avanam sobre as reas de Pre-
servao Permanente (APP). Os incndios para
renovao dos pastos atingem repetidamente os
poucos remanescentes forestais que persistiram.
Apesar da explorao madeireira ter sido proibida
no Estado, dezenas de serrarias ainda processam
madeiras de lei, de forma ilegal. Desmatamentos
ilegais e incndios criminosos de remanescentes
so prticas comuns, para criar novos pastos e
aproveitar a madeira para serrarias ou carvoa-
rias.
So inmeras as carvoarias clandestinas,
produzindo carvo com madeira retirada da Mata
Atlntica. Roubos de madeiras nobres, para ser-
vir como matria-prima para os artesos locais,
tambm so freqentes. Ainda ocorrem desmata-
mentos para estabelecer lavouras de caf, mamo,
coco e pimenta-do-reino, esta ltima usando
milhes de estacas de madeira retiradas da Mata
Atlntica para escoramento das plantas. Muitos
desses projetos tm fnanciamento de agncias
nacionais e regionais de fomento.
O crdito rural continua at hoje incenti-
vando desmatamentos. O Pr-Cacau fnanciou a
derrubada de cerca de 215 mil hectares na Regio
Cacaueira. De maneira geral, as linhas de crdito
agrcola no condicionam a liberao de recursos
verifcao da adequao ambiental das pro-
priedades rurais, como por exemplo, existn-
cia de Reserva Legal e proteo das reas de
Preservao Permanente. Quando a regra existe,
difcilmente implementada na prtica. Projetos
do Programa Nacional de Fortalecimento da Agri-
cultura Familiar (Pronaf) fnanciaram em 2005,
no Extremo Sul da Bahia, serrarias familiares sem
garantia de fornecimento de matria-prima que
no seja madeira de lei.
Existe ainda na Bahia uma cultura extrati-
vista muito enraizada, vindo dos tempos em que
a mata dominava toda a faixa costeira e tinha de
ser desbravada para consolidar fazendas, vilas e
cidades. A maioria da populao, muitos tcnicos
e at autoridades no percebem ainda a fragilida-
Caiaras
Mata Cap3 07BA.indd 132 2/23/06 11:13:37 PM
133
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
de, o estado calamitoso e o valor extraordinrio
da Mata Atlntica para as futuras geraes.
As disparidades sociais, no campo e na
periferia das cidades, marginalizam populaes
em ecossistemas preservados e deixam poucas
escolhas a no ser degradar ecossistemas para
tentar sobreviver. Muitos posseiros se instalam
em reas de nascentes e topos de morros e tentam
sobreviver de coivaras. Nas periferias, forestas,
mananciais e manguezais so invadidos por fave-
las com condies de vida subumanas.
A esse quadro se somam novos ciclos eco-
nmicos, tomando lugar do cacau e da pecuria
extensiva de outrora. A monocultura do eucalipto
, sem dvida, uma das atividades econmicas
mais importantes no Extremo Sul e se projeta
agora para o norte, alcanando a regio cacauei-
ra. Exerce grande infuncia sobre a dinmica do
uso da terra, com disparada do preo da terra,
tendncia concentrao fundiria maior e xo-
do rural. Promessas de altos lucros com fomento
forestal das empresas incentivam desmatamentos
especulativos. Pecuaristas venderam reas de
pasto supervalorizadas e se instalaram em outras
regies, com preo fundirio menor, e desmataram
para formar novos pastos.
O eucalipto instalou-se no fnal dos anos de
1980 no Extremo Sul da Bahia, para atender de-
manda da indstria de celulose. A regio apresenta
condies ideais para o cultivo: caractersticas
edafoclimticas perfeitas, tradio de explorao
madeireira, baixo custo das terras, de mo-de-
obra, de energia e de impostos e os menores custos
de produo do mundo. Apenas no Extremo Sul,
cobria 169.300 hectares em 1992 e, depois de mais
de 20 anos de iniciada, a monocultura do eucalipto
j abrange uma rea de mais de 400 mil hectares.
A recente construo da usina de produo de
celulose da empresa Veracel e a duplicao da
capacidade de produo da planta de celulose da
Suzano implicaro certamente na ampliao dos
plantios e possivelmente no aumento da presso
sobre os remanescentes.
Os assentamentos de reforma agrria im-
plantados no sul da Bahia, do Instituto Nacional
de Colonizao e Reforma Agrria (Incra) ou do
programa estadual Cdula da Terra, tm se mos-
trados tambm fatores de ameaa aos remanescen-
tes de forestas da regio. A falta de uma poltica
transparente e objetiva de reforma agrria, a falta
de opes de assentamento devido concentrao
fundiria e ao aumento exponencial do preo da
Populao
tradicional
Mata Cap3 07BA.indd 133 2/23/06 11:13:40 PM
134
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
terra, relacionados monocultura de eucalipto,
assim como a ausncia de solues para a efeti-
va melhoria da renda dos assentados, tornam-se
fatores de presso sobre os ecossistemas naturais
remanescentes.
Embora a quantidade desmatada em reas de
reforma agrria seja pequena, se comparada com
a derrubada praticada por grandes proprietrios e
empresas, esses pequenos desmatamentos causam
impactos em reas de grande valor ecolgico, sem
gerar benefcios duradouros para os assentados,
esgotando rapidamente os recursos hdricos e os
solos das reas.
Obras de infra-estrutura promovidas pelo
Programa de Desenvolvimento do Turismo no
Nordeste (Prodetur), executado pelo governo
do Estado com recursos prprios e emprstimos
do Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), tambm tm provocado impactos ambien-
tais e o isolamento de importantes fragmentos na
proximidade de reas protegidas. Novas propostas
do Estado para o BID, no mbito do Prodetur II,
no possuem um componente de conservao con-
sistente, ameaando com obras de infra-estrutura e
urbanizao costeira os trechos mais preservados
do litoral, principalmente nos municpios de Porto
Seguro, Santa Cruz de Cabrlia e Belmonte. reas
de foresta, manguezais e restingas prximas a
centros urbanos costeiros esto sendo destrudas
pela urbanizao desordenada ligada ao turismo
de massa e tambm pelo crescimento de bairros
populares e favelas, decorrente do xodo rural
provocado pelo declnio da lavoura cacaueira.
Uma nova ameaa sobre esses ecossistemas
vem do planejamento e fomento recente de grandes
projetos de carcinicultura nas regies de Caravelas,
Canavieiras e Camamu. Causando desmatamentos
ilegais de extensas reas de restinga e mangue, essa
atividade predatria altamente poluente e concen-
tradora de renda j causou graves estragos scio-
culturais e ambientais no litoral do Nordeste.
Uma grande usina hidreltrica foi recentemen-
te concluda em Itapebi, no Vale do Jequitinhonha,
com impactos ainda desconhecidos sobre a ictio-
fauna endmica do rio. Em fase de planejamento,
encontram-se tambm pequenas hidreltricas a
serem instaladas nos rios Jucuruu e Buranhm,
ameaando potenciais locais tursticos e toda a
biodiversidade de ambientes de gua doce.
Na rea tradicionalmente ocupada por cacau,
os grandes proprietrios esto usando a madeira
como fonte emergencial de renda. No Extremo
Cidade de Itacar
Mata Cap3 07BA.indd 134 2/23/06 11:13:51 PM
135
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
Sul, cresce a concentrao de terras controladas
por grandes grupos econmicos. Os ltimos rema-
nescentes de foresta vo sendo substitudos por
novas monoculturas, como a palmeira pupunha
(Bactris gasipaes) no Baixo Sul e o mamo (Ca-
rica papaya L.) no Extremo Sul. Essa regio j
representa 30% da produo nacional de mamo,
do qual o maior produtor mundial.
No restam dvidas de que, ao persistir o
atual ritmo de destruio, grande parte das reas
ainda representativas sero aniquiladas nos prxi-
mos anos, se medidas urgentes no forem tomadas
para determinar sua proteo.
Corredor Central da Mata
Atlntica
O Corredor Central da Mata Atlntica
(CCMA) est localizado nos estados da Bahia
e Esprito Santo, ao longo da costa atlntica,
estendendo-se por mais de 1.200 Km no sentido
norte-sul. Este Corredor, alm dos ecossistemas
terrestres, engloba ainda ecossistemas aquticos
de gua doce, bem como marinhos, dentro da pla-
taforma continental. Est inserido no bioma Mata
Atlntica, ocupando uma rea de aproximadamen-
te 213 mil Km
2
- a poro martima compreende
cerca de 80 mil Km
2
e a terrestre 133 mil Km
2
. A
poro terrestre composta por mais de 95% de
terras privadas, estando o restante ocupado por
unidades de conservao federais, estaduais e
municipais, bem como terras indgenas. A quase
totalidade dos remanescentes forestais pertence
a particulares e esto, em geral, sob ameaa de
alguma forma de explorao ou mesmo de des-
forestamento.
Na Bahia, o CCMA estende-se por um vasto
territrio limitando-se ao norte pelo Rio Para-
guau (na Baa de Todos os Santos) e ao sul pelo
Rio Mucuri, na divisa com o estado de Esprito
Santo.
Menino pescando em Itacar
Ilhus
Mata Cap3 07BA.indd 135 2/23/06 11:14:04 PM
136
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
O CCMA representa cerca de 75% da regio
biogeogrfca Bahia, conforme anlise efe-
tuada por Silva e Casteleti (2001), abrangendo
diferentes tipologias da Mata Atlntica: foresta
ombrfla densa; manguezais; restingas; foresta
semidecdua; foresta ombrfla aberta.
A regio compreende at dois centros de
endemismo da Mata Atlntica, conforme estudos
disponveis sobre vertebrados terrestres, borbole-
tas e plantas. Caracterizam-se por um indce de
endemismo altssimo (26% a 28% das espcies de
vrios gneros). Entre eles esto: Brodriguesia,
Arapatiella e Harleyodendron, e ainda quatro
gneros de microbambus (Atractantha, Anomo-
chloa, Alvimia e Sucrea). Dessa regio tambm
endmica a piaava (Attalea funifera), palmeira
de importncia econmica.
A regio biologicamente diversa e abriga
muitas espcies ameaadas de extino e de
distribuio restrita, como o mico-leo-da-cara-
dourada (Leonthopithecus chrysomelas), macaco-
prego-de-peito-amarelo (Cebus xanthosternos),
ourio-preto (Chaetomys subspinosus), papagaio-
chau (Amazona rhodochorytha), escarradeira
(Xipholena atropurpurea) e choquinha-do-rabo-
cintado (Myrmotherula urosticta), entre outras.
Apresenta uma diversida-
de de aves elevada, com cinco
novas espcies e um gnero
(Acrobatornis fonsecai) re-
centemente descobertos nas
regies montanhosas e costei-
ras da Regio Cacaueira, no
centro-sul do Estado. O Corre-
dor Central abriga mais de 50%
das espcies de aves endmicas
da Mata Atlntica. O Corredor
Central tambm particular-
mente rico em anfbios, com
alto nvel de endemismo. Um
estudo recente de anfbios no
Encontro
do rio com
o mar
sul da Bahia confrma a importncia biolgica da
regio, tendo sido registradas at o momento 87
espcies de anfbios anuros, incluindo espcies
endmicas da Mata Atlntica e da regio sul da
Bahia. Destes, a maior parte (49) no foi conclu-
sivamente identifcada, e pelos menos 12 novas
espcies de anfbios anuros j foram confrmadas,
mostrando o quanto a fauna da regio ainda
desconhecida.
A diversidade tambm excepcional para
plantas. Em estudo realizado em uma reserva pri-
vada de Serra Grande, municpio de Uruuca, ao
norte de Ilhus, foram encontradas 458 espcies
de rvores em 1 hectare de foresta, nmero que
foi considerado recorde mundial de riqueza de
plantas lenhosas.
Dados compilados da coleo do herbrio da
Comisso Executiva do Plano da Lavoura Cacauei-
ra (Cepec/Ceplac), a partir de dcadas de invent-
rios no sul da Bahia, registram a presena de cerca
de 162 famlias vegetais, representadas por 1.144
gneros e cerca de 3.620 espcies. Esses nmeros
no so conclusivos, pois muitas espcies ainda
sero descritas a partir de revises dos gneros, mas
oferecem um panorama abrangente da regio.
A partir da anlise de espcies com distri-
Mata Cap3 07BA.indd 136 2/23/06 11:14:06 PM
137
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
buio conhecida, foram estimados o nvel de
endemismo da fora em duas reas do sul da
Bahia: no entorno do Parque Estadual Serra do
Conduru (PESC) e na Reserva Biolgica de Una
(situados respectivamente a 40 km ao norte e ao
sul de Ilhus). Na Reserva de Una, 44,1% das
espcies foram caracterizadas como endmicas
das forestas costeiras e 28,1% endmicas do sul
da Bahia e norte do Esprito Santo. No Conduru,
41,6% das espcies mostraram-se endmicas das
forestas costeiras e 26,5% endmicas do sul da
Bahia e norte do Esprito Santo.
Alm da grande diversidade de espcies, a
regio do Corredor Central destaca-se pela pre-
sena de diversos animais e vegetais amaznicos,
tipicamente associados costa atlntica.
Os pouqussimos remanescentes de mata
decdua, conhecida regionalmente como mata
de cip, ecossistema muitssimo ameaado pela
atividade agropastoril, em especial com a cultura
do caf, da regio de Vitria da Conquista, Jequi
e Boa Nova, bem como as forestas estacionais
semideciduais da encosta do Planalto Baiano e da
Serra do Tombo esto gravemente ameaados por
desmatamentos. Esses ambientes tm a fora pou-
co conhecida e bastante diversa da mata higrfla.
Nessa regio de ambientes muito impactados, com
alta riqueza de espcies endmicas, constata-se a
presena de aves ameaadas de extino, como
o graveteiro Rhopornis ardesiaca e a choquinha
Formicivora iheringi (espcies globalmente
ameaadas).
Os ecossistemas terrestres desta regio so
extremamente importantes, no s para a bio-
diversidade da Mata Atlntica, como tambm
para a proteo das bacias hidrogrfcas e, por
conseqncia, dos recifes de coral e outros ecos-
sistemas marinhos no parcel de Abrolhos, Reserva
Extrativista do Corumbau, Parque Nacional Mari-
nho de Abrolhos e demais reas marinhas ao longo
do Corredor Central. Esta regio constitui-se no
maior e mais rico conjunto de recifes de coral do
Atlntico Sul, com altssimo grau de endemismo
da fauna marinha.
Os principais remanescentes legalmente pro-
tegidos da regio so reas ncleo da Reserva da
Biosfera da Mata Atlntica e bens tombados pela
Organizao das Naes Unidas para a educao,
a Cincia e a Cultura (Unesco) como patrimnios
naturais da Humanidade. Partes muito represen-
tativas do hotspot de biodiversidade da Mata
Atlntica constituem vrias reas consideradas
de extrema importncia biolgica no Workshop
Avaliao e Aes Prioritrias para a Conser-
vao da Biodiversidade da Mata Atlntica e
Campos Sulinos.
Efeitos da fragmentao
Os ndices alarmantes de desmatamento
criaram uma situao onde restaram poucos e
diminutos fragmentos da cobertura original. Por
isso, a anlise dos remanescentes mais represen-
tativos deve ser o ponto de partida para estratgias
de conservao.
De acordo com Forman (1995), enquanto os
grandes fragmentos so muito importantes para
Praia em Itacar
Mata Cap3 07BA.indd 137 2/23/06 11:14:19 PM
138
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
versidade biolgica da regio como um todo no
teria como se manter nos nveis atuais. Grandes
conjuntos de fragmentos, mesmo descontnuos,
justifcam a criao de novas unidades de conser-
vao. Na verdade, trata-se de antigos e grandes
remanescentes em processo acelerado de degra-
dao, que pode e deve ser revertido.
Unidades de conservao
No Extremo Sul da Bahia est localizada a
maior concentrao forestal nativa protegida, com-
preendendo trs parques nacionais: Descobrimento,
Monte Pascoal e Pau-Brasil na parte terrestre, com
cerca de 50.000 hectares de matas e o Parque Na-
cional Marinho Abrolhos, com 90.000 hectares. As
pequenas bacias hidrogrfcas protegidas por estes
parques nacionais so extremamente importantes
no s para a biodiversidade da Mata Atlntica,
como tambm para os recifes de coral e outros
ecossistemas marinhos do Banco de Abrolhos e do
Parque Nacional Marinho de Abrolhos, a zona mais
rica em recifes de coral do Atlntico Sul.
Pr-do-Sol em Canavieiras
a manuteno da biodiversidade e de processos
ecolgicos em larga escala, os pequenos remanes-
centes cumprem diversas funes extremamente
relevantes ao longo da paisagem. Dentre elas,
podem-se mencionar o seu papel como elementos
de ligao (stepping stones) entre grandes reas,
auxiliando no aumento do nvel de heterogenei-
dade da paisagem e do habitat, assim como de
refgio para espcies que requerem ambientes
especfcos que s ocorram nessas reas.
A maior parte do Corredor Central da Mata
Atlntica encontra-se na forma de pequenos
fragmentos distribudos na matriz da paisagem,
apresentando mais de 88% da rea remanescentes
de Mata Atlntica da regio.
A riqueza biolgica desses pequenos frag-
mentos ainda grande. Entretanto, como os efeitos
da fragmentao no so imediatos, o processo de
extino pode estar ocorrendo progressivamente.
Espcies endmicas, alm daquelas com maior
requerimento de rea, respondem rapidamente
dinmica de fragmentao, tanto que compem
hoje um conjunto bastante signifcativo de formas
altamente ameaadas e com necessidade de pro-
teo em unidades de conservao.
Fragmentos de 2.000 hectares suportam
grande parte das espcies de Psitacdeos da regio,
inclusive as consideradas ameaadas de extino.
Em levantamento de anfbios anuros realizado na
mesma regio, um fragmento isolado de apenas
500 ha foi o segundo mais rico do estudo, com 35
espcies registradas. Nesse levantamento, foram
registradas espcies endmicas do Sul da Bahia,
alm de novas espcies e formas raras, mesmo
nas reas mais perturbadas. Isso sinal de que
tais espcies toleram um certo grau de impacto e
so capazes de persistirem, desde que a cobertura
nativa no seja totalmente destruda.
Desse modo, pode-se estimar ento que, sem
essas centenas de fragmentos menores e sem a
proteo e o manejo adequado dessas reas, a di-
Mata Cap3 07BA.indd 138 2/23/06 11:14:28 PM
139
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
No vasto territrio da Mata Atlntica baia-
na, alm dos trs grandes Parques Nacionais,
as demais unidades de conservao de proteo
Integral so: Reserva Biolgica de Una, Parque
Estadual Serra do Conduru e Estao Ecolgica
de Wenceslau Guimares.
Todas essas UCs continentais juntas repre-
sentam cerca de 78.000 hectares de florestas
protegidas. Essas UCs via de regra carecem de
recursos e pessoal nas quantidades mnimas ne-
cessrias para resguardar a vocao nica desses
remanescentes forestados. E ainda carecem de
recursos para a regularizao fundiria da rea j
existente e/ou ampliao dos seus limites atuais.
No Domnio da Mata Atlntica da Bahia h
ainda 20 reas de Proteo Ambiental (APAs)
Estaduais englobando, alm de forestas conti-
nentais, mangues, ilhas, bancos coralneos e ou-
tros ecossistemas associados. Alm dessas UCs,
cerca de 30 Reservas Particulares do Patrimnio
Natural (RPPNs) juntas protegem 9.510 hectares
de ecossistemas.
A pedido do Ministrio do Meio Ambiente,
a Conservao Internacional do Brasil, o Institu-
to de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia
(IESB) e a Flora Brasil produziram, em 2002, um
estudo para ampliao da superfcie sob proteo
integral na poro baiana do Corredor Central da
Mata Atlntica, atravs da ampliao de unidades
de conservao existentes e da criao de novas
reas protegidas.
Esse trabalho considerou critrios de repre-
sentatividade dos ecossistemas regionais, reas
prioritrias para conservao da biodiversidade
segundo o documento Avaliao e Aes Priori-
trias para Conservao dos Biomas Mata Atln-
tica e Campos Sulinos (MMA, 2000), importncia
biolgica dos remanescentes forestais e grau de
ameaa a que esto submetidos.
O estudo embasou a Portaria MMA 506 de
20/12/2002, reformulada na Portaria MMA 177 de
07/04/2003, determinando essas reas como prio-
ritrias para a criao de unidades de conservao
federais. O estudo de 2002 foi reavaliado no fnal de
2004 e foram identifcadas mais seis reas priorit-
rias para criao de UCs de proteo integral.
A criao dessas novas UCs permitiria am-
pliar signifcativamente a representatividade da
Centro de
Taboquinhas
Mata Cap3 07BA.indd 139 2/23/06 11:14:31 PM
140
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
proposta nas regies Cacaueira e do Baixo Sul,
assim como para ecossistemas costeiros (restingas
e manguezais) e interioranos (forestas semi-de-
ciduais, submontanas e matas de cip). Com essa
proposta, a poro baiana do Corredor Central
teria uma cobertura de UCs de proteo integral
correspondendo a de 6,4% de seu territrio, cor-
respondendo a um incremento de cerca de 630%,
em relao situao atual.
Para a realizao dos estudos foi constituda
uma Equipe Tcnico-Cientfca (ETC) de tcnicos
do Ministrio do Meio Ambiente, Ibama e orga-
nizaes governamentais estaduais e municipais
e organizaes da sociedade civil e universidades
com trabalhos voltados para a regio. A ETC
responsvel pela realizao de estudos tcnicos,
atualmente em curso, observando as orientaes
da legislao pertinente (Lei n. 9.985, de 18 de
julho de 2000 e Decreto n. 4.340, de 22 de agosto
de 2002).
Projeto Corredores
Ecolgicos
A riqueza excepcional e quadro de acelerada
destruio de uma das biodiversidades de maior
importncia no planeta, impem aes imediatas
no sentido de: proteger e conservar essa impor-
tante biodiversidade, principalmente nas reas de
sua maior concentrao; reduzir as presses sobre
as reas mais ntegras e sobre suas comunidades
biticas; e garantir populaes de plantas e ani-
mais geneticamente viveis ao longo prazo.
Bromlia
Esquilo
Nesse contexto, os conceitos corredor eco-
lgico ou corredor de biodiversidade referem-se
a extenses signifcativas de ecossistemas biolo-
gicamente prioritrios, nas quais o planejamento
responsvel do uso da terra facilita o fuxo de
indivduos e genes entre remanescentes de ecos-
sistemas, unidades de conservao e outras reas
protegidas, aumentando a sua probabilidade de
sobrevivncia no longo prazo e assegurando a
manuteno de processos evolutivos em larga
escala. Busca-se dessa forma garantir a sobrevi-
vncia do maior nmero possvel de espcies de
uma determinada regio.
A formao de corredores ecolgicos visa
ainda incrementar a conectividade entre as reas
naturais remanescentes, mediante fortalecimento
e expanso do nmero de unidades de conserva-
o, incluindo as RPPNs, alm da recuperao de
ambientes degradados. No curto e mdio prazos,
um corredor ecolgico constitudo por mosaicos
de reas com diferentes usos deveria permitir a
passagem de espcies sensveis s alteraes do
habitat, favorecendo o fuxo gnico entre popu-
laes anteriormente isoladas em fragmentos de
ecossistemas.
A concepo de corredores ecolgicos est
sendo posta em prtica pelo Projeto Corredores
Ecolgicos, associado ao Programa Piloto para a
Proteo das Florestas Tropicais do Brasil (PPG7).
O Projeto, sob responsabilidade do Ministrio do
Mata Cap3 07BA.indd 140 2/23/06 11:14:57 PM
141
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
AMEAAS NA BA: pgs. 199, 205, 208,
219, 224, 226 e 227
PROJETOS NA BA: pgs. 249 e 258
A REDE NO ESTADO: pg. 289
BIBLIOGRAFIA: pg. 317
Meio Ambiente e em cooperao com governos
estaduais, atua, desde maro de 2002, na implan-
tao em dois corredores: Corredor Central da
Amaznia e Corredor Central da Mata Atlntica
(CCMA). Um carter marcante do Projeto que as
decises so tomadas por um comit deliberativo
composto por representantes governamentais, do
setor produtivo e da sociedade civil.
Desde o incio de 2003, as equipes do Cor-
redor Central da Mata Atlntica contam com as-
sistncia tcnica da cooperao Brasil-Alemanha
(GTZ). Com uma doao inicial do Rain Forest
Trust Fund (RTF), administrado pelo Banco Mun-
dial, e contribuies de outras doadores (KfW,
Unio Europia) previstas para a segunda fase.
Atualmente o Projeto encontra-se em preparao
para incio da segunda fase.
Juntam-se iniciativa governamental para a
implantao de corredores ecolgicos uma srie
de pesquisas, estudos e aes signifcantes em
campo, promovidas por entidades de pesquisa,
ONGs locais e nacionais, muitas vezes apoiadas
por fnanciamentos de organizaes ambientalis-
tas no-governamentais, nacionais e internacio-
nais, tais como SOS Mata Atlntica, Conservation
International, BirdLife, CEPF, WWF e outras.
O seu resultado atual mais signifcativo
a articulao entre dezenas de atores locais e
regionais, governamentais, no-governamentais,
instituies de pesquisa, movimentos sociais, no
planejamento e coordenao de aes e recursos.
Do corredor ecolgico nasce uma verdadeira
cultura de cooperao para a conservao da
biodiversidade no sul da Bahia e norte do Esprito
Santo, na busca de solues concretas, socialmen-
te e ambientalmente viveis, para a proteo da
Mata Atlntica.
A capacidade da sociedade atual conciliar
interesses, s vezes confitantes, entre o uso dos
remanescentes da Mata Atlntica, a luta contra
a pobreza e para o bem-estar e a urgncia de se
assegurar condies ecolgicas para perpetuao
de milhares de espcies, que levaram milhares ou
milhes de anos para se diferenciarem, ser nossa
herana para as futuras geraes. Nesse cenrio,
alternativas de conservao regional, a exemplo
do Projeto Corredores Ecolgicos, podem signi-
fcar um dos ltimos esforos macro-regionais
para consolidar polticas pblicas que assegurem,
em tempo hbil, a preservao desse patrimnio
biolgico excepcional para as geraes futuras.
Milson dos Anjos Batista, bilogo e consul-
tor tcnico do Projeto Corredores Ecolgicos;
Jean-Franois Timmers, bilogo, consultor
tcnico e presidente da Flora Brasil at julho
de 2005; e Renato Pgas Paes da Cunha,
engenheiro, especializado em gesto ambien-
tal, coordendor do Grupo Ecolgico da Bahia
(Gamb) e da Rede de ONGs da Mata Atln-
tica.
Litoral Sul
da Bahia
Mata Cap3 07BA.indd 141 2/23/06 11:15:01 PM
142
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
Mato Grosso do Sul
Considera-se Domnio de Mata Atlntica
(DMA) a rea originalmente coberta por um mo-
saico de formaes forestais e ecossistemas asso-
ciados, sujeitos infuncia do Oceano Atlntico.
A extenso desse domnio no consensual entre
os autores, mas para efeitos legais, o Decreto-Lei
750/93 defne-o como:
O espao que contm aspectos ftogeogrf-
cos e botnicos que tenham infuncia das condi-
es climatolgicas peculiares do mar incluindo
as reas associadas delimitadas segundo o Mapa
de Vegetao do Brasil (IBGE,1993) que inclui
a foresta ombrfla densa, foresta ombrfla
mista, foresta ombrfla aberta, foresta estacio-
nal semidecidual e foresta estacional decidual,
manguezais, restingas e campos de altitude asso-
ciados, brejos interioranos e encraves forestais
da Regio Nordeste.
De acordo com a defnio desse decreto-lei,
o DMA extrapolaria os limites do bioma Mata
Atlntica ao incluir as forestas estacionais de
algumas regies mais interiores no continente.
Esse o caso do Parque Nacional da Serra da
Bodoquena (PNSB), unidade de conservao
onde a ftofsionomia predominante de foresta
estacional decidual submontana. Com rea de
76.481 ha (764,81km), o PNSB cobre aproxi-
madamente 0,2% da superfcie do Mato Grosso
do Sul (MS).
O pequeno percentual ocupado pela rea
do PNSB no MS corresponde a 16% de todos os
remanescentes de Mata Atlntica nesse Estado e
seu mais importante remanescente. Ao se conside-
rar as forestas estacionais deciduais submontanas
isoladamente, mais de 25% da rea que ocupam
no Mato Grosso do Sul se inserem nessa unida-
de de conservao (UC). Mesmo em um estado
onde fcil encontrar propriedades rurais com
rea superior do parque nacional, esse ainda
alvo de oposio, conforme revelam reportagens
publicadas no Correio do Estado de 30 de maio e
em O Progresso de 23 de junho de 2005.
A Serra da Bodoquena apresenta uma diver-
sidade de ecossistemas cuja proteo no poder
Parque
Nacional
da Serra da
Bodoquena
F
o
t
o
:
V
i
v
i
a
n
R
i
b
e
i
r
o
M
a
r
i
a
Mata Cap3 08MS.indd 142 2/23/06 11:16:25 PM
143
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
se restringir ao interior do parque. signifcativa
a ocupao do solo em volta da unidade, mas a
regio ainda apresenta possibilidades interessan-
tes de conectividade atravs da preservao de
recursos hdricos, da manuteno de mosaicos
de reservas legais e formao de corredores eco-
lgicos.
No parque e suas imediaes, os ecossiste-
mas aquticos envolvem uma rede de drenagem
dividida em quatro sub-bacias: Perdido, Salobra,
Formoso e Prata. Todos possuem nascentes muito
prximas ao Parque Nacional. Diante da impor-
tncia ao ecoturismo, os rios Prata e Formoso
so considerados rios cnicos pela lei estadual
nmero 1.871/98. Coincidentemente, ambos esto
fora do PNSB. Os rios Prata, Formoso e Perdido
possuem, em suas cabeceiras, extensos banhados
quase totalmente externos aos limites do PNSB
que, mesmo no caso dos dois rios cnicos, foram
ignorados pela lei estadual 1.871/98. Essas reas
midas no apresentam o apelo visual e sentimen-
tal das matas ciliares, mas so to importantes
quanto essas na preservao e manuteno dos
recursos hdricos.
Os ecossistemas terrestres protegidos pelo
PNSB localizam-se em uma rea com certa
individualidade topogrfca, o que est relacio-
nado formao geolgica (Bocaina) de quase
todo Parque Nacional, que diferente daquelas
adjacentes, fora dos limites da unidade. Dentro
dessa, uma anlise visual permitiu identifcar
12 tipos de ambientes terrestres, a saber: mata
decdua com dossel fechado sobre morro, mata
decdua com dossel aberto sobre aforamentos
rochosos, mata decdua de baixada (terras bai-
xas), aforamentos rochosos, taquaral, brejo per-
manentemente inundado, brejo estacionalmente
seco, aforamentos rochosos com predominncia
de gramneas, formao arbustiva sobre afora-
mentos rochosos, aforamentos rochosos com
predominncia de bromlias, matas ciliares em
relevo plano e em relevo em V. Cabe ressaltar
que em um desses ambientes, brejo estacio-
nalmente seco, foi encontrado uma espcie de
margarida (Dimirostemma annuum), que teve
seu primeiro e nico registro no chaco paraguaio
em 1815. Essa uma espcie considerada rara e
ameaada de extino.
Ip-branco
Mata Cap3 08MS.indd 143 2/23/06 11:16:33 PM
144
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
Fora da unidade, a preservao das reas na-
turais remanescentes atravs da aplicao da lei
a nica alternativa para evitar o empobrecimento
gentico que sucede o isolamento de reas naturais.
Esses ambientes possuem fauna e fora ainda pou-
co conhecidas, mas potencialmente importantes.
Devido s caractersticas singulares de for-
mao dos corpos dgua da regio do PNSB, a
ictiofauna apresenta elevada biodiversidade. H
presena de grutas e cavernas inundadas, onde
possvel encontrar endemismos e espcies no
descritas pela cincia. De fato, em 1997 foi des-
crita por Sabino e Trajano uma espcie nova de
cascudo albino (Ancistrus formoso). Mesmo nos
rios, que apresentam uma das maiores transparn-
cias para gua doce no mundo (podendo chegar a
60 m de visibilidade), foi descrito recentemente
uma nova espcie de lambari, o Moenkhausia
bonita, por Benine e col. em 2004.
Em relao fauna de mamferos do PNSB
e regio, o que temos at o momento so dados
bibliogrfcos de um levantamento na regio do
PNSB e levantamentos realizados em reas adja-
centes Serra da Bodoquena, como o Pantanal e o
Cerrado. Esses dados podem nos dar informaes
de uma provvel composio da mastofauna do
PNSB. No levantamento bibliogrfco realizado
por Camargo (dados no publicados) para as re-
gies do Pantanal e Cerrado, foram listadas 239
espcies com provvel ocorrncia na Serra da
Bodoquena. Dessas, 155 apresentam alta proba-
bilidade de ocorrerem de fato.
Utilizando as categorias de ameaa estabele-
cidas pela Unio Mundial para a Conservao da
Natureza (UICN), das 154 espcies de mamferos
que apresentam alta probabilidade de ocorrncia
na regio do PNSB, 24 esto classifcadas nas
categorias criticamente em perigo e em perigo.
rvores
cheias de
bromlias,
riqueza
da Mata
Atlntica
Mata Cap3 08MS.indd 144 2/23/06 11:16:40 PM
145
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
AMEAAS NO MS: pg. 199
PROJETOS NO MS: pg. 241
A REDE NO ESTADO: pg. 295
BIBLIOGRAFIA: pg. 320
Segundo a classifcao, essas espcies esto sob
risco extremamente alto e muito alto de extino
na natureza. Nessa listagem, cabe ressaltar a fa-
mlia Felidae (mdios e grandes felinos) com 8
espcies, incluindo a ona-pintada, que apresenta
alta probabilidade de ocorrncia na regio do
PNSB e todas em alto risco de extino.
Um dos poucos esforos amostrais para mas-
tofauna feito na Serra da Bodoquena por Carmig-
notto (2004) revelou alguns dados interessantes.
Foi registrada uma espcie no descrita do gnero
Gracilinanus (catita) e tambm a espcie Thylamys
macrurus, sendo o segundo registro para o Pas
(ambos so tipos de gamb). Uma espcie conhe-
cida como rato dgua (Nectomys squamipes), que
mais amplamente distribuda pelo bioma Mata
Atlntica, foi registrada tambm nesse estudo.
A avifauna da regio do PNSB vem sendo
registrada por ornitlogos h alguns anos. Desses
esforos foi obtida uma lista com 327 espcies
de aves at o momento para a regio. Em outro
estudo desenvolvido por Braz (2003), a autora
registrou 5 espcies endmicas numa lista de
183 espcies, dentre elas esto: Pyrrhura devillei
(periquito Psittacidae), Syndactyla rufosuper-
ciliata (trepador Furnariidae) e Phyllomyias
reiseri (piolhinho Tyrannidae). Na regio do
PNSB, foi feito tambm o primeiro registro de
gavio real (Harpia harpyjal) no estado do Mato
Grosso do Sul.
Alexandre de M. M. Pereira e Ivan Salzo
so analistas ambientais do Parque Nacional
da Serra da Bodoquena e Adlio A. V. de Mi-
randa Chefe do Parque Nacional da Serra
da Bodoquena
Alm da fauna atual, h registros fossilferos
da megafauna que existiu no Pleistoceno (15 mil
anos atrs). Nas grutas e cavernas inundadas da
Serra da Bodoquena, foram encontrados fsseis de
preguia gigante, mastodonte, gliptodonte, tigre
dentes de sabre, entre outros.
Nessa relao intrincada, pouco conhecida,
cheia de atores que est inserido o Parque Nacio-
nal da Serra da Bodoquena, uma zona de transio
entre distintos biomas, que pode resguardar muito
mais espcies novas e endmicas desconhecidas
pela cincia. Criado para preservar e conservar
esse importante fragmento de forestas no interior
do Brasil, a nica unidade de conservao de pro-
teo integral do estado do Mato Grosso do Sul.
Papagaio
verdadeiro
Rio no
Parque
Nacional
da Serra da
Bodoquena
F
o
t
o
:
V
i
v
i
a
n
R
i
b
e
i
r
o
M
a
r
i
a
Mata Cap3 08MS.indd 145 2/23/06 11:16:56 PM
146
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
Gois
Estado com a menor rea coberta por ecos-
sistemas do domnio da Mata Atlntica, Gois
possui apenas 82 mil hectares ainda ocupados
por forestas caractersticas do Bioma. A rea
proporcionalmente muito pequena em relao ao
domnio do Cerrado no Estado. Os remanescentes
de Mata Atlntica estendem-se basicamente pelo
territrio de nove municpios do sudeste goiano:
Quirinpolis, Inaciolndia, So Simo, Buriti
Alegre, Morrinhos, gua Limpa, Corumbaba,
Goiatuba e Arapor.
Ao contrrio de estados como Rio de Janeiro,
Esprito Santo e Paran, inteiramente cobertos pela
diversidade das fisionomias da Mata Atlntica,
das forestas ombrflas e estacionais deciduais ao
manguezal e a restinga, Gois conta somente com
foresta estacional decidual e foresta estacional
semidecidual, ambas caracterizadas pela vegetao
arbrea que perde suas folhas no perodo da seca. H
tambm matas ciliares, remanescentes incrustrados
ou limtrofes inseridos em outras formaes.
Pelo mesmo padro de desmatamento das
demais reas de Mata Atlntica, a dinmica de
destruio do bioma tornou-se mais acentuada
nas trs ltimas dcadas. O estado de Gois so-
freu alterao severa nos ecossistemas pela alta
fragmentao de habitats e perda da biodiversi-
dade local. O Atlas dos Remanescentes Florestais
e Ecossistemas Associados da Mata Atlntica,
coordenado pela Fundao SOS Mata Atlntica,
mostra o quanto a destruio da foresta no Esta-
do continua evoluindo. Em 1995, Gois possua
aproximadamente 85 mil hectares de mata ou
7,5% em relao ao domnio original no Estado.
Em 2000, esse nmero havia cado para cerca
de 82 mil hectares ou 7,24% da rea original. O
desmatamento equivaleu, assim, a mais de 3 mil
e 300 hectares ou 3,95% entre 1995 e 2000.
Borboleta tpica das
forestas de Gois
Mata Cap3 09GO.indd 146 2/23/06 11:18:45 PM
147
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
Dentro desse quadro, est em aprovao
a criao da nica unidade de conservao que
garante a proteo de signifcativa parcela de
Mata Atlntica no Estado. O Parque Estadual da
Mata Atlntica, no municpio de gua Limpa,
partiu de estudos tcnicos da Gerncia de reas
Protegidas e de Aes Integradas da Diretoria de
Ecossistemas da Agncia Ambiental de Gois,
que mostraram a riqueza dos atributos fsicos e
biticos da regio.
Remanescente forestais s margens do Rio Paranaba
Segundo os tcnicos da agncia ambiental,
os 1 mil hectares do Parque merecem ser pre-
servados pela diversidade faunstica, constituda
de mamferos de grande porte, como macacos
e ona-pintada, e por espcies de aves nativas
de transio entre Cerrado e Mata Atlntica; a
diversidade forstica possui o mesmo grau de
expresso, composta por plantas como cedro,
jatob, peroba-rosa e outras quase extintas que
s ocorrem no bioma.
Mata Cap3 09GO.indd 147 2/23/06 11:18:55 PM
148
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
Cobra
Espera-se que a criao do Parque da Mata
Atlntica tambm signifque um avano econ-
mico para a chamada Regio das guas. Ali se
localiza o maior aqfero termal do mundo, nos
municpios de Caldas Novas e Rio Quente, alm
dos grandes lagos formados pelo represamento
do Rio Paranaba. A vocao natural da rea para
o ecoturismo pode ser fomentada pela constitui-
o de parcerias para o turismo sustentvel no
circuito.
Aps ter sua criao aprovada pelo Conselho
Estadual de Meio Ambiente (Cemam), o Parque
da Mata Atlntica de Gois aguarda agora decreto
de criao pelo governador do Estado. Enquanto
isso, outras unidades de conservao de domnio
privado j foram aprovadas pelo Cemam, como
o Refgio da Vida Silvestre do Meia Ponte, que
garante a preservao de cerca de 1 mil hectares
de mata nativa no municpio de Goiatuba. A uni-
dade de conservao ir proteger, assim, um dos
ltimos resqucios forestais da bacia do Meia
Ponte no sul do Estado, com formao vegetal
de foresta semidecdua tpica do Planalto Central
brasileiro.
Ip-amarelo
BIBLIOGRAFIA: pg. 320
Mata Cap3 09GO.indd 148 2/23/06 11:19:07 PM
149
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
Nordeste
A diversidade biolgica da Mata Atlntica
est distribuda preferencialmente em pelo me-
nos cinco centros de endemismos e duas reas
de transio. Esses centros e reas representam
as unidades biogeogrfcas bsicas de toda a
regio da foresta atlntica. A poro de foresta
referida aqui como Mata Atlntica do Nordes-
te compreende os estados da Bahia, Sergipe,
Alagoas, Pernambuco, Paraba, Rio Grande do
Norte, Cear e Piau. Do ponto de vista ftofsio-
nmico, a Mata Atlntica do Nordeste abriga for-
maes pioneiras, pores de foresta ombrfla
densa e aberta, foresta estacional semidecidual
e decidual.
Do ponto de vista biogeogrfco, a Mata
Atlntica do Nordeste abriga quatro dos cinco cen-
tros de endemismo que ocorrem no bioma. Dois
deles situam-se ao norte do Rio So Francisco, o
Centro de Endemismo Pernambuco e os Brejos
Nordestinos, esse ltimo composto por ilhas de
floresta estacional encravadas no semi-rido.
Ao sul do Rio So Francisco, esto os centros
Diamantina e Bahia, os quais ocupam tambm
pequenas pores de Minas Gerais e do Esprito
Santo. Alm do elevado nmero de espcies en-
dmicas, esses quatro centros esto entre as reas
mais ricas em espcies de toda a Mata Atlntica.
O Centro Bahia uma das pores mais ricas de
foresta tropical do mundo.
Infelizmente, a Mata Atlntica do Nordeste
e seus centros de endemismos representam um
dos setores mais degradados do bioma, abrigando
dezenas de espcies ofcialmente ameaadas de
extino.
Situao Atual
A Mata Atlntica no Nordeste cobria uma
rea original de 255.245 Km, ocupando 28,84%
Mata Cap3 10NE.indd 149 2/23/06 11:21:24 PM
150
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
Catadora de caranguejo catando frutos do manguezal
do seu territrio. Os ltimos esforos das organi-
zaes no-governamentais Sociedade Nordes-
tina de Ecologia (SNE) e Fundao SOS Mata
Atlntica e parceiros governamentais para mape-
amento da Mata Atlntica indicam que o bioma
no Nordeste ocupa hoje uma rea aproximada de
27.194 Km, cobrindo uma rea total de 2,21%
do seu territrio.
Mais de 46% dos remanescentes mapeados
esto localizados na Bahia. Os demais sete esta-
dos contam com 14.520 Km de remanescentes
da Mata Atlntica, dispostos em pequenos frag-
mentos. A Mata Atlntica no Nordeste se estendia
por uma faixa contnua litornea do Rio Grande
do Norte at a Bahia e, nos Estados do Cear e
do Piau, em reas descontnuas sobre chapadas,
serras, dunas e vales.
Para a realizao do Mapeamento da Mata
Atlntica e Ecossistemas Associados, a Sociedade
Nordestina de Ecologia, em articulao com a
Fundao SOS Mata Atlntica, adotou as fsio-
nomias defnidas no decreto n 750/93.
No Piau, a legenda da vegetao mapeada
foi: foresta estacional semidecidual montana
(foresta tropical subcaduciflia); foresta esta-
cional semidecidual submontana (foresta tropi-
cal subcaduciflia); foresta estacional decidual
montana (foresta tropical caduciflia); vegetao
de dunas/restinga (vegetao com infuncia ma-
rinha) e vegetao de manguezal (vegetao com
infuncia fuvio-marinha).
Para o Cear, a legenda adotada foi: vegeta-
o de cerrado (foresta estacional semidecidual
montana); vegetao de dunas/restinga; vegetao
de mata mida (foresta ombrfla aberta) e vege-
tao de manguezal.
Mata Cap3 10NE.indd 150 2/23/06 11:21:39 PM
151
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
UF
rea UF Remanescentes forestais
Km Km
2
% sobre rea total da UF
Alagoas 27.933 (5) 877 (1) 3,14
Bahia 567.295 (5) 12.674 (4) 2,23
Cear 148.825 (6) 1.873 (3) 1,26
Paraba 56.585 (5) 656 (2) 1,16
Pernambuco 98.938 (5) 1.524 (1) 1,54
Piau 251.529 (6) 7.791 (3) 3,10
Rio Grande do Norte 53.307 (5) 432 (2) 0,81
Sergipe 22.050 (5) 1.367 (1) 6,20
Total 1.226.462 27.194 2,21
1 Remanescentes Florestais da Mata Atlntica no Nordeste
(1) SNE, 1993 (PE, AL, SE); (2) SNE, 2004 (RN,PB); (3) SNE, 2005 (CE, PI); (4) SOS, 1990; (5) IBGE, 1999 ; (6) IBGE, 2002.
Para os estados do Rio Grande do Norte e
Paraba, foi utilizada a seguinte legenda: mata
em estgio mdio/avanado de regenerao; mata
em estgio inicial de regenerao; vegetao de
restinga; vegetao de manguezal.
No existem dados atualizados para a Mata
Atlntica nos estados de Pernambuco, Alagoas,
Bahia e Sergipe. (Tabela 1)
rea de transio entre
Mata Atlntica e Caatinga
Mata Cap3 10NE.indd 151 2/23/06 11:21:50 PM
152
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
Em mapeamento concludo em 2005, verif-
ca-se que a Mata Atlntica do Piau abrange uma
rea de 7.791 Km, correspondendo a 3,10% da
superfcie do Estado, compreendendo as seguintes
formaes vegetais: foresta estacional semideci-
dual, foresta estacional decidual, vegetao de
dunas/restinga e manguezal.
As maiores reas de vegetao esto loca-
lizadas nos municpios de Guaribas e Canto do
Buriti com a fsionomia de foresta estacional
decidual montana e foresta estacional semideci-
dual submontana, no municpio de Alvorada do
Gurguia.
No que se refere ao manguezal, os municpios
em que se identifcou a sua presena so Cajueiro
da Praia; Lus Correia; Parnaba e Ilha Grande.
Unidade de
Conservao
Nvel
rea da
Unidade
Tipologia Florestal
Vegetao na unidade
(ha) (ha) (%)
APA Delta do
Parnaba
Federal 308.273,00
Vegetao de Manguezal 5.351,11 1,74
Vegetao de
Dunas/Restinga
19.456,85 6,31
PN Serra das
Confuses
Federal 526.106,77
Floresta Estacional
Decidual Montana
343.299,70 65,25
TOTAL 834.379,77 368.107,66 44,12
SNE, 2005.
2 Vegetao por Unidade de Conservao no Piau
Municpio de
Cristino Castro
Piau
F
o
t
o
:
P
a
u
l
o
V
a
s
c
o
n
c
e
l
o
s
J
n
i
o
r
Mata Cap3 10NE.indd 152 2/23/06 11:21:53 PM
153
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
rea do
Estado
Tipologia Florestal
Vegetao no
Estado
Vegetao
Protegida
(Km) (Km) (%) (Km) (%)
251.529,19
Floresta Estacional Decidual
Montana
5.167,23 2,05 3.433,00 1,36
Floresta Estacional Semidecidual
Montana
441,26 0,18
Floresta Estacional Semidecidual
Submontana
1.773,07 0,70
Vegetao de Manguezal 61,93 0,02 53,51 0,02
Vegetao de Dunas/Restinga 347,97 0,14 194,57 0,08
7.791,46 3,10 3.681,08 1,46
SNE, 2005.
3 Vegetao de Mata Atlntica e Ecossistemas Associados no Estado do Piau.
Apenas duas Unidades de Conservao
foram encontradas nos limites mapeados da Mata
Atlntica e seus Ecossistemas Associados no
estado do Piau, uma rea de proteo ambiental
APA (federal) e um parque nacional, conforme
tabela 2.
Com base nos resultados da Tabela 3, 1,46%
da cobertura da Mata Atlntica e seus ecossiste-
mas associados no Estado encontram-se protegi-
Periquitos
dos por unidades de conservao em nvel federal,
sendo 1,36% em floresta estacional decidual
montana e 0,10% em vegetao de mangue, dunas
e restingas.
De um modo geral, constata-se, a partir dos
trabalhos de campo, uma grande devastao da
vegetao primitiva, em funo do plantio de
extensas reas de soja e de frutferas arbreas,
especialmente de caju.
Mata Cap3 10NE.indd 153 2/23/06 11:21:58 PM
154
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
APA da
Serra de
Maranguape
Cear
A Mata Atlntica no Cear ocupa uma rea
total de 1.873 Km e est localizada de maneira
dispersa em dez regies: Chapada do Araripe,
Litoral, Chapada do Ibiapaba, Serra da Aratanha,
Serra de Baturit, Serra do Machado, Serra das
Matas, Serra de Maranguape, Serra da Meruoca
e Serra de Uruburetama, ocupando total ou par-
cialmente 67 municpios.
De acordo com dados obtidos no mapea-
mento realizado pela SNE em 2004, verifca-se
que apenas 14 municpios (Amontada, Barbalha,
Barroquinha, Beberibe, Camocim, Crato, Fortim,
Guaramiranga, Meruoca, Mulungu, Pacatuba, Pa-
coti, Paracuru e Paraipaba), dentre os que possuem
vegetao mapeada, obtiveram um valor acima
de 10% de rea municipal recoberta com relao
Mata Atlntica e Ecossistemas Associados no
Estado do Cear. Na Tabela 4, so apresentados
os fragmentos de vegetao de Mata Atlntica e
Ecossistemas Associados mapeados por regio.
A Chapada do Araripe apresenta um frag-
mento de razovel dimenso para a regio com
fsionomia de mata mida e de cerrado. Constata-
se que a existncia das unidades de conservao
da Floresta Nacional do Araripe (Flona Araripe)
e da APA Chapada do Araripe contribuiu para a
manuteno desses remanescentes, haja vista que,
no entorno imediato das unidades de conservao,
quase no se encontra mais vegetao nativa.
no litoral do Estado onde se verifca a maior
agresso biodiversidade dos ecossistemas asso-
ciados da Mata Atlntica: manguezais e restingas
(vegetao de dunas). A reduo das reas de
manguezal se explica pelo uso incompatvel do
solo associado expanso de complexos tursticos
e culturas de crustceos. A vegetao de restinga
tem sua reduo tambm associada ao turismo e
expanso da agricultura.
A existncia de vegetao nativa da Chapada
da Ibiapaba, a mata mida, deve-se forte declivi-
dade e tambm criao das unidades de conser-
vao: APA da Ibiapaba e o Parque Nacional de
Ubajara. Nas Serras de Maranguape e Aratanha,
a vegetao de mata mida est mais preservada,
Mata Cap3 10NE.indd 154 2/23/06 11:22:06 PM
155
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
SNE, 2002.
4 Vegetao por regio mapeada.
Regies de
mapeamento
Tipologia de
vegetao
rea de
vegetao
(ha)
Total de
vegetao
(ha)
Total de
vegetao
(%)
Chapada do Araripe
Mata mida 4.485,00
39.782,28 21,24
Cerrado 35.297,28
Litoral
Manguezal 17.113,76
91.632,97 48,93
Restinga 74.519,21
Chapada da Ibiapaba Mata mida 25.893,22 25.893,22 13,83
Serra da Aratanha Mata mida 4.251,25 4.251,25 2,27
Serra de Baturit Mata mida 20.567,47 20.567,47 10,98
Serra do Machado Mata mida 72,21 72,21 0,04
Serra das Matas Mata mida 21,29 21,29 0,01
Serra de Maranguape Mata mida 1.471,64 1.471,64 0,79
Serra da Meruoca Mata mida 3.205,99 3.205,99 1,71
Serra de Uruburetama Mata mida 388,09 388,09 0,21
Total Geral 187.286,41 187.286,41 100,00
em virtude de que, em muitas reas, o acesso
mais restrito pela prpria condio de declivida-
de. Na Serra da Meruoca, pode-se constatar um
aumento da rea com vegetao, principalmente
no estgio inicial e mdio de regenerao. Essa si-
tuao pode ser justifcada pela presena do Ibama
na cidade de Sobral (cerca de 30 km de distncia)
e a implementao de uma poltica de fscalizao
mais rgida quanto ao desmatamento e o uso do
fogo por parte dos proprietrios rurais.
Nas Serras do Machado e das Matas, assim
como na de Uruburetama, os fragmentos encontra-
dos so muito reduzidos. A existncia de 21,29 ha
de mata mida na Serra das Matas sugere que em
outras reas situadas no seu entorno, com altitude
acima de 700 m devem ter existido remanescentes
forestais de Mata Atlntica. As Serras das Matas
e do Machado, em estudos anteriores nem so
mencionadas como reas de ocorrncia de mata
mida nem esto situadas dentro dos limites do
Domnio da Mata Atlntica.
Flor da Mata Atlntica
Mata Cap3 10NE.indd 155 2/23/06 11:22:12 PM
156
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
5 Vegetao por Unidade de Conservao.
Unidade de
Conservao
Nvel
Unidade de
Conservao
no Cear
(ha)
Tipologia
de
Vegetao
Vegetao
na Unidade
(ha)
Vegetao na
Unidade (%)
APA da Chapada
do Araripe
Federal 578.603,66
Cerrado 16.905,85 2,92
Mata mida 2.524,46 0,44
APA da Serra da
Aratanha
Estadual 6.448,29 Mata mida 4.116,57 63,84
APA da Serra de
Baturit
Estadual 32.690,00 Mata mida 15.848,36 48,48
APA da Serra de
Ibiapaba
Federal 379.771,10
Manguezal 14,37 0,004
Mata mida 14.187,78 3,74
APA das Dunas de
Paracuru
Estadual 3.909,60 Restinga 324,04 8,29
APA Delta
do Parnaba
Federal 20.329,21
Manguezal 3.784,17 18,61
Restinga 2.582,40 12,70
APA do Esturio
do Rio Curu
Estadual 881,94
Manguezal 59,45 6,74
Restinga 49,64 5,63
APA do Esturio
do Rio Munda
Estadual 1.596,37
Manguezal 389,72 24,41
Restinga 84,64 5,30
APA do Lagamar
do Caupe
Estadual 1.884,46 Restinga 3,94 0,21
Floresta Nacional
do Araripe
Federal 38.262,33
Cerrado 18.391,45 48,07
Mata mida 1.960,53 5,12
Parque Nacional
de Jericoacoara
Federal 8.416,08
Manguezal 71,22 0,85
Restinga 138,85 1,65
Parque Nacional
de Ubajara
Federal 6.288,00 Mata mida 1.048,54 16,68
TI Lagoa Encan-
tada
Federal 1.641,01
Manguezal 8,82 0,54
Restinga 747,47 45,55
TI Tapeba Federal 4.752,15 Manguezal 412,56 8,68
TI Trememb
de Almofala
Federal 4.803,15
Manguezal 121,45 2,53
Restinga 242,12 5,04
Total 1.090.277,35 84.018,40 7,71
TI=Terra Indgena; APA=rea de Proteo Ambiental.
SNE, 2002.
Mata Cap3 10NE.indd 156 2/23/06 11:22:12 PM
157
Na Serra de Uruburetama, o resultado do
mapeamento demonstra que est quase comple-
tamente ocupada com a cultura de banana e o que
resta de vegetao de mata mida est descarac-
terizada, considerando o seu aspecto original. O
melhor exemplo de conservao da vegetao de
mata mida no Cear est na Serra de Baturit,
prxima de Fortaleza. A explorao do turismo
ecolgico em pequenos stios, associada boa
gesto da APA da Serra de Baturit, pelo governo
do Estado, favorecem a preservao da vegetao.
Na Tabela 5, so apresentados os fragmentos de
Mata Atlntica existentes nas unidades de con-
servao do Cear.
Na Tabela 6, apresentado um resumo da
rea do
Estado (ha)
Tipologia de
vegetao
rea de
vegetao
no Estado
(ha)
rea de
vegetao
no Estado
(%)
Vegetao
protegida
(ha)
Vegetao
pretegida
(%)
14.882.560,20
Cerrado 35.297,28 0,24 35.297,30 100,00
Mata mida 60.356,16 0,41 39.686,24 65,75
Restinga 74.519,21 0,50 4.173,10 5,60
Manguezal 17.113,76 0,11 4.861,76 28,41
14.882.560,20 187.286,41 1,26 84.018,40 44,86
SNE, 2002.
6 Vegetao de Mata Atlntica e Ecossistemas Associados no Cear.
situao dos fragmentos de Mata Atlntica e
Ecossistemas Associados no Cear.
Os resultados apresentados nas tabelas de-
monstram uma questo de relevncia na gesto da
Mata Atlntica do Nordeste: a vegetao protegida
em unidades de conservao (UCs) no Estado
representa 44,86% (84.018,40 ha) do total da ve-
getao mapeada (187.286,41 ha). Embora, desse
percentual protegido, apenas 25,72% (21.610,59
ha) estejam em unidades de conservao de pro-
teo integral, os relatos de campo indicam que a
presena de uma unidade de conservao, mesmo
que de uso sustentvel, mas de grande abrangn-
cia, como as APAs, tem exercido grande infuncia
na conservao do bioma no Estado.
APA da Serra
de Baturit
Mata Cap3 10NE.indd 157 2/24/06 12:47:12 AM
158
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
O Domnio da Mata Atlntica (DMA) no
Rio Grande Norte ocupa uma rea total de 3.298
Km e est localizado no litoral leste do Estado,
ocupando total ou parcialmente 27 municpios,
abrangendo os ecossistemas de mata, restinga
e manguezal. Embora no includo no DMA, o
litoral norte apresenta reas de remanescentes
de restinga e de manguezal, nos municpios de
So Bento do Norte, Galinhos, Guamar, Ma-
cau, Porto do Mangue, Areia Branca, Grossos
e Tibau. Da mesma forma, so encontrados
fragmentos de mata serrana nos municpios
de Martins, Portalegre, Serrinha dos Pintos,
Coronel Joo Pessoa e Lus Gomes, conforme
a Tabela 7.
Os maiores decrementos de mata identif-
cados no Rio Grande do Norte ocorreram nos
municpios de Goianinha, Ars, Nsia Floresta,
Parnamirim, Natal, Extremoz e Cear Mirim.
Ainda com relao mata, deve-se levar em conta
tambm a quase total supresso das matas serranas
localizadas nos municpios de Viosa, Umarizal,
Martins, Portalegre e Serrinha dos Pintos.
Quanto restinga, tal decremento se veri-
fcou com maior intensidade nos municpios de
Maxaranguape, Rio do Fogo e Touros. Com rela-
o ao decremento verifcado no ecossistema de
manguezal, tem-se a destacar o que ocorreu nos
municpios de Canguaretama, Natal, So Gona-
lo do Amarante, Extremoz, Galinhos, Guamar,
Macau e Porto do Mangue. As atividades iden-
tifcadas no levantamento, que mais impactaram
esses ecossistemas no Estado, foram: atividades
agrcolas, principalmente a expanso da rea de
cultivo da cana-de-acar e de frutferas arbreas,
Classe rea (Km)
DMA
Fora do
DMA
Total
Mata 247 33 280
Manguezal 67 65 132
Restinga 118 40 158
Total 432 138 570
SNE, 2002.
7 Remanescentes Florestais 2002
Rio Grande do Norte
Remanescentes de
Mata Atlntica no
Estado
Rio Grande do Norte
F
o
t
o
:
F
e
r
n
a
n
d
o
P
i
n
t
o
Mata Cap3 10NE.indd 158 2/23/06 11:22:33 PM
159
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
o desenvolvimento de atividades voltadas para a
carcinicultura em reas de manguezal e a expan-
so urbana em reas litorneas.
Apesar da acentuada fragmentao dos
ecossistemas que compem a Mata Atlntica
no Estado, vislumbra-se a possibilidade de esta-
belecimento de corredor ecolgico partindo da
Mata da Estrela, no municpio de Baa Formosa,
e seguindo pelas restingas arbustivo-arbreas
do litoral at o municpio de Natal. Outro cor-
Caranguejos
redor pode ser formado a partir de Extremoz
at o municpio de Touros, tambm protegendo
e recuperando o ecossistema de restinga. Esses
dois trechos constituem reas Prioritrias para
a Conservao da Mata Atlntica no Rio Grande
do Norte, segundo os resultados do Workshop
de Avaliao de reas Prioritrias para a Con-
servao da Mata Atlntica e Campos Sulinos,
realizado em Atibaia, So Paulo, em 1999.
Pitanga
Mata Cap3 10NE.indd 159 2/23/06 11:22:37 PM
160
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
O Domnio da Mata Atlntica (DMA) na
Paraba abrange duas grandes reas, perfazendo
um total de 6.743 Km e ocupando total ou parcial-
mente 63 municpios, incluindo os ecossistemas
de mata, restinga e manguezal. Uma das reas fca
localizada na parte sul do Estado, com 575 Km,
cobrindo a totalidade dos municpios de Camala,
Carabas, Congo, Monteiro, So Joo do Tigre e
So Sebastio do Umbuzeiro. No caso especfco
desses municpios paraibanos, que no foram consi-
derados no mapeamento da SNE de 1992/1993, mas
que esto includos no Domnio da Mata Atlntica,
levantamentos realizados pela equipe do PNUD/
FAAO/Ibama/Governo da Paraba e divulgados
no Mapeamento da Cobertura Florestal Nativa
Lenhosa do Estado da Paraba, em 1994 e 2002,
revelam, para as reas serranas desses municpios,
uma fora tipicamente de Caatinga. Decidiu-se,
ento, pela continuidade da no incluso dos dados
encontrados naqueles municpios.
Em contrapartida, em alguns municpios li-
mtrofes ao DMA de ambos os estados, a anlise
preliminar das imagens, com base em amostras
de reas conhecidas, sugeria um prolongamento
da vegetao de mata alm desses limites. Essas
reas foram mapeadas, desde que confrmadas
pelos tcnicos locais e/ou nos trabalhos de campo.
Na outra rea, situada a leste, com 6.168 Km, en-
contram-se remanescentes da foresta ombrfla,
da foresta estacional semicaduciflia, da restinga
e do manguezal.
Embora no estejam includas no DMA,
foram identifcadas reas de mata nos seguintes
municpios: Caiara, Lagoa de Dentro, Pedro
Rgio, Duas Estradas, Sertozinho, Guabiraba,
Cuitegi, Alagoinha, Algodo de Jandara, Jua-
rez Tvora, Serra Redonda, Ing, Riacho do
Bacamarte, Massaranduba, Fagundes, Campina
Grande, Puxinan, Aroeiras e Maturia. Nessas
reas foram ento mapeados 71 Km de mata, os
quais somados aos 656 Km mapeados no DMA,
resultaram em 727 Km, conforme a Tabela 8.
Os maiores decrementos identifcados nos
ltimos dez anos no Estado ocorreram nos mu-
Manguezal
Paraba
Mata Cap3 10NE.indd 160 2/23/06 11:22:41 PM
161
nicpios de Santa Rita, nas matas denominadas
Mata da Usina So Joo, Mata da Usina Santana,
RPPN Engenho Gurja, Mata Pau Brasil e Mata
Fazenda Capito; Rio Tinto e Mamanguape, na
Reserva Biolgica de Guaribas. No ecossistema
de manguezal, as maiores agresses
ocorreram nos municpios de Pitimbu,
Conde, Rio Tinto e Bayeux. A restinga
est reduzida a localidades nos munic-
pios de Mataraca, Cabedelo e Rio Tinto,
sendo verifcada reduo de rea desse
ecossistema no municpio de Mataraca,
limite com Baa Formosa, no Rio Grande
do Norte.
As atividades identifcadas no le-
vantamento, que mais impactaram esses
ecossistemas de Mata Atlntica no Esta-
do foram: a expanso da rea de cultivo
da cana-de-acar e o desenvolvimento
de atividades voltadas para a carcini-
cultura em reas de manguezal. No que
tange identifcao de reas com maior
concentrao de mata, destaque deve ser
dado aos municpios de Cruz do Esprito
Santo, Santa Rita, Rio Tinto e Maman-
guape. A disposio dessas manchas de
fragmentos forestais insinua a formao
de um corredor ecolgico. Outra rea de
destaque corresponde aos remanescentes encon-
trados no municpio de Areias e Alagoa Grande,
conjunto de grande interesse ecolgico e social,
por tratar-se de fragmentos de mata serrana (ou
brejo de altitude). O Pico do Jabre, localizado no
municpio de Maturia, por se constituir num en-
crave forestal em rea de Caatinga, merece aten-
es especiais tendo em vista os resultados obtidos
nesse mapeamento que demonstram decrscimos
de rea nos ltimos dez anos. Convm salientar
que essas trs reas constituem reas Prioritrias
para a Conservao da Mata Atlntica na Paraba,
segundo os resultados do Workshop de Avalia-
o de reas Prioritrias para a Conservao da
Mata Atlntica e Campos Sulinos, realizado em
Atibaia, So Paulo, em 1999.
Classe rea (Km)
DMA
Fora do
DMA
Total
Mata 525 71 596
Manguezal 118 --- 118
Restinga 13 --- 13
Total 656 71 727
SNE, 2002.
8 Remanescentes Florestais 2002
Paraba
rea de mata
F
o
t
o
:
F
e
r
n
a
n
d
o
P
i
n
t
o
Mata Cap3 10NE.indd 161 2/23/06 11:22:48 PM
162
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
Apesar de praticamente toda costa brasileira
ter sido ocupada pela colonizao europia a
partir da mesma poca (sculo XVI), foi no Nor-
deste do Brasil que a foresta atlntica foi mais
rapidamente degradada. Dois ciclos econmicos
foram fundamentais nesse processo: o do pau-
brasil e o da cana-de-acar, o qual se estende at
os dias atuais. Em 1990, restavam menos de 6%
da extenso original da floresta atlntica ao
norte do Rio So Francisco e alguns tipos fo-
restais, como a foresta ombrfla densa, foram
reduzidos a poucas dezenas de quilmetros
quadrados.
A Mata Atlntica nos estados de Alagoas
e Pernambuco representa grande parte do que
restou do Centro de Endemismo Pernambuco,
o qual abriga a foresta costeira de Alagoas ao
Rio Grande do Norte. Estudos indicam que um
tero das rvores do Centro Pernambuco estariam
ameaadas de extino regional, conseqncia da
interrupo do processo de disperso de semen-
tes. Modelos de extino de rvores, elaborados
posteriormente, sugerem que esse nmero pode
estar subestimado e que a foresta ao norte do
Rio So Francisco a unidade biogeogrfca da
foresta atlntica de maior probabilidade de per-
der espcies em escala regional e global. Nessa
regio, por exemplo, onde se encontra um dos
locais (Murici, Alagoas) com a maior quantidade
de espcies de aves ameaadas de extino nas
Amricas.
De acordo com o Caderno n 29, do Conselho
Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atln-
tica (RBMA), que trata da RBMA em Alagoas,
existem 24 unidades de conservao inseridas na
rea de abrangncia do bioma no Estado. Destas
UCs, sete so federais, sete so estaduais, trs
so municipais e sete so Reservas Particulares.
Essas UCs cobrem uma rea total de 602.173,60
ha. Sete destas UCs so APAs e perfazem um total
de 575.877 ha, as demais UCs cobrem 26.296,60
ha. Algumas ainda no foram categorizadas de
acordo com o Sistema Nacional de Unidades de
Conservao (SNUC).
Cidade de
Olinda PE
Pernambuco e Alagoas: O Pacto Murici
Mata Cap3 10NE.indd 162 2/23/06 11:23:06 PM
163
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
Grande parte das unidades de conservao de
Alagoas no foi regularizada e implementada, a
fscalizao insufciente. Observa-se, no entanto,
uma situao de grande potencialidade na con-
servao do bioma no Estado, com a efetivao
de parcerias do governo estadual e do sistema de
gesto da RBMA com o setor sucro-alcooleiro.
Recentemente, quatro RPPNs foram criadas em
reas de usinas: a RPPN da Reserva do Gulandim,
criada em 2001, com 41 ha, localizada no munic-
pio de Teotnio Vilela, de propriedade das Usinas
Reunidas Seresta S/A; a RPPN da Fazenda Santa
Tereza, criada em 2001, com 100 ha, localizada
no municpio de Atalaia, inserida no territrio da
Usina Uruba, e as RPPNs Fazenda Pereira, com
290 ha, e a Fazenda Lula Lobo, com 98,6 ha,
criadas em 2001, localizadas no municpio de
Coruripe, de propriedade da S/A Usina Coruripe
Acar e lcool.
A criao da Estao Ecolgica (ESEC) de
Murici, em 2001, cobrindo uma rea de 6.116 ha,
nos municpios de Messias, Flexeiras e Murici,
foi impulsionada pela Birdlife International (BI)
e a SNE, por meio da realizao de Diagnsti-
co Expedito do Complexo Florestal de Murici
(CFM), regio que integra a ESEC e o seu en-
torno imediato. Esse trabalho subsidiou o Ibama
na criao da ESEC Murici. Aps a criao da
ESEC Murici, a SNE, em parceria com a WWF
Brasil e a BI, realiza projeto para apoio sua
implementao. Em seguida, contando tambm
com a participao da The Nature Conservancy,
so realizados o levantamento fundirio do CFM,
o censo demogrfco do CFM, o levantamento
e monitoramento da avifauna, o treinamento de
viveiristas e ofcinas de educao ambiental, bem
como a realizao de um sistema de informaes
geogrfcas (SIG), organizando todos os dados
obtidos sobre a regio.
Em junho de 2003, a SNE convidou Funbio,
TNC, BI, CI, SOS e WWF Brasil para uma visita
ESEC Murici buscando apoio para a reduo
da degradao da Mata Atlntica, mesmo dentro
de uma UC de proteo integral. Outros parcei-
ros se incorporam ao processo, como o Cepan,
que tem tido grande aproximao com o setor
sucro-alcooleiro, realizando pesquisas para a
conservao da biodiversidade nas Usinas Serra
Grande e Trapiche e o IA-RBMA, que tambm
tem realizado iniciativas importantes com a par-
ceria do setor sucro-alcooleiro, implementando
dois Postos Avanados da RBMA nas Usinas
Coruripe e Guaxuma.
rea de
transio
da mata e
restinga , em
Alagoas
Mutum: espcie
altamente ameada
de extino
F
o
t
o
:
F
e
r
n
a
n
d
o
P
i
n
t
o
F
o
t
o
:
F
e
r
n
a
n
d
o
P
i
n
t
o
Mata Cap3 10NE.indd 163 2/23/06 11:23:14 PM
164
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
Em maio de 2004, no Senado Federal, em
Braslia, foi estabelecido um acordo entre as
oito instituies no-governamentais, denomi-
nado Pacto Murici, cujo objetivo propiciar a
alavancagem de recursos e o desenvolvimento
de projetos de grande envergadura, voltados
para a conservao e o uso sustentvel da biodi-
versidade. Dando continuidade a essa estratgia
criou-se ento a Associao para a Proteo da
Mata Atlntica do Nordeste (Amane), entidade
formada pelas oito ONGs do Pacto Murici, para
coordenar as aes de um projeto de conser-
vao e uso sustentvel para a Mata Atlntica
do Nordeste. Esse projeto inclui os estados de
Pernambuco e Alagoas, no territrio denominado
Centro de Endemismo de Pernambuco.
O Pacto Murici tem como objetivo catalisar
aes e recursos para conjuntamente reverter
o quadro de desmatamento e degradao da
biodiversidade e criar formas de restaurar o fun-
cionamento da paisagem e o desenvolvimento
sustentvel da ecorregio Florestas Costeiras de
Pernambuco (FCP). Os objetivos especfcos do
Pacto so: 1. Construir um programa integrado de
aes de conservao, para a ecorregio da FCP; 2.
Captar e mobilizar recursos para a implementao
do programa integrado de aes de conservao e
desenvolvimento sustentvel na regio; 3. Integrar
aes visando o cumprimento e/ou o estabele-
cimento de polticas pblicas que favoream e
Cactus na
restinga
Marcelo Tabarelli, do Departamento de Bo-
tnica, Universidade Federal de Pernambuco,
Recife (PE); Maria das Dores de V. C. Melo,
da Associao da Mata Atlntica do Nordeste
Amane e Osvaldo C. de Lira, da Associa-
o da Mata Atlntica do Nordeste - Amane.
(Textos Nordeste e Estados do Nordeste, menos
Sergipe)
fortaleam a implementao das aes constantes
do plano integrado de ao e assegurem a con-
servao da biodiversidade e contribuam para o
desenvolvimento sustentvel na regio. Como j
foi tratado inicialmente, no existem mapeamentos
atualizados para os estados de Piau, Pernambuco,
Alagoas e Sergipe. Os ltimos dados esto dispos-
tos na Tabela 1 deste captulo. O mapeamento do
Piau est em realizao pela SNE.
Evitar perda de espcies em biotas extrema-
mente fragmentadas, como o Centro Pernambuco,
possvel atravs da implementao de corredo-
res de biodiversidade. De forma muita sucinta, o
corredor pode ser descrito como um conjunto de
reas protegidas pblicas e particulares, conec-
tadas atravs de corredores forestais em escala
regional, imerso em uma matriz de uso mltiplo
do solo que seja pouco agressiva diversidade
biolgica. Assim, vrias categorias de uso da terra
compem o esforo de conservao de um cor-
redor, dentre elas: parques, reservas pblicas ou
privadas, terras indgenas, alm de propriedades
que praticam sistemas agroforestais ou ecotu-
rismo. O Pacto Murici pode ser um instrumento
importante para a elaborao e implementao de
um corredor de biodiversidade em uma das por-
es mais importantes de toda a foresta atlntica,
contribuindo efetivamente para a conservao da
Mata Atlntica do Nordeste.
Mata Cap3 10NE.indd 164 2/23/06 11:23:17 PM
165
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
O Estado de Sergipe localiza-se a leste da
regio Nordeste e tem a menor rea do Brasil
em extenso territorial, com 22.050,40 Km
2
.
Possui cerca de 1.800.000 habitantes, 62,4%
urbanos, densidade demogrfca de 77,67 hab/
Km
2
, crescimento demogrfco de 1,2% ao ano
e uma faixa de migrao interna de 11,25%. Sua
rea natural bastante devastada, sendo cerca
de 90% utilizada como pastagens e atividade in-
tensiva de agricultura, restando apenas algumas
manchas da foresta costeira, mata de restinga,
mata ciliar, cerrados arbustivos e caatinga.
Em Sergipe, como no Nordeste em geral, as
reas remanescentes so pequenas e extrema-
mente fragmentadas com grande impacto an-
trpico.
Originalmente, a Mata Atlntica ocupava
toda faixa litornea sergipana, at a chegada do
homem branco (europeu) em 1501 para tomar
posse das terras indgenas, com os objetivos
de explorar o pau-brasil, criar gado e plantar
cana-de-acar. Aps mais de 500 anos de ocu-
pao, da Mata Atlntica original restam poucos
corredores ao longo da extenso litornea do
Estado, ocupando cerca de 40 Km
2
de largura do
territrio sergipano, com formaes de diferentes
ecossistemas, que incluem as faixas litorneas
com suas associaes das praias e dunas, com
ocorrncia das formaes forestais pereniflias
latifoliadas higrflas costeiras (foresta cos-
teira), que ocorrem ao longo do todo o litoral
sergipano sob a forma de pequenas manchas,
exceto na poro sul do Estado, onde algumas
fazendas particulares se apresentam mais pre-
servadas, localizando-se normalmente nos topos
das colinas mais elevadas ou nas encostas que
apresentam declividades acentuadas. Nos locais
onde foi fortemente devastada, aparecem os
cultivos perenes e temporrios e posteriormente
as pastagens. A Mata Atlntica sergipana ocorre
desde municpios localizados no So Francisco
at Mangue Seco, na divisa com a Bahia.
Cidade de
Aracaju
Sergipe
Mata Cap3 10NE.indd 165 2/23/06 11:23:27 PM
166
Apesar da devastao por conta da forte
ao antrpica, o pouco que resta preservado da
grande diversifcao ambiental proporciona
Mata Atlntica uma enorme diversidade biolgica,
com um bom nmero de mamferos, aves, rpteis
e anfbios que ali sobrevivem e garantem a repro-
duo de muitas espcies, sendo que vrias delas
so endmicas (s ocorrem ali). A Mata Atlntica
ainda possui raras espcies de plantas - das quais
muitas so endmicas - e ainda consegue ser o
primeiro e maior bloco de forestas do Estado.
A zona costeira de Sergipe dividida em dois
setores: Litoral Norte e Litoral Sul.
O Litoral Norte compreende 2.300 Km
2
, em
112 Km de extenso, com uma populao de 600
mil habitantes (257 hab/Km
2
), em 17 municpios
Aracaju, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do
Socorro, Laranjeiras, Riachuelo, Maruim, Santo
Amaro das Brotas, Pirambu, Carmpolis, Capela,
Siriri, General Maynard, Pacatuba, Japaratuba,
Rosrio do Catete, Ilha das Flores e Brejo Grande.
Apesar de ser uma Reserva Nacional, tem como
principal uso do solo a explorao dos recursos
minerais, o que tem causado srios problemas
ambientais, em decorrncia da explorao de pe-
trleo, gs, cloreto de sdio, cloreto de potssio
Turismo na Serra de Itabaiana
Mata Cap3 10NE.indd 166 2/24/06 12:47:44 AM
167
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
e outros evaporitos associados, como tambm
pela presena de indstrias de cimento e de ferti-
lizantes. Grande parte das cidades localiza-se no
interior dos esturios e tabuleiros, com exceo
de Aracaju e Barra dos Coqueiros. H tambm
grandes propriedades de cocoiculturas, cana e pe-
curia. Em oito municpios, predomina a lavoura
e, em outros oito, a pecuria. Laranjeiras tem a
maior usina do Estado, com grandes canaviais e
algumas destilarias de lcool.
O Litoral Sul possui 2.500 Km
2
, com 55
quilmetros de extenso, concentrando 143 mil
habitantes (57 hab/Km
2
), em cinco municpios
So Cristvo, Itaporanga, Estncia, Santa Luzia
do Itanhy e Indiaroba. A atividade predominante
o turismo, por conta do centro histrico de So
Cristvo, o fcil acesso s praias e uma infra-
estrutura de bares, restaurantes e pousadas em
expanso. A economia baseia-se na agricultura.
Estncia e Itaporanga formam um plo industrial
alavancado pela indstria txtil, de fabricao de
sucos de fruta e cervejaria que, juntamente com
Itabaiana e Lagarto, formam os centros urbanos
mais importantes do Estado depois de Aracaju.
Os ecossistemas
A caracterizao da Mata Atlntica em Sergi-
pe foi apresentada por Santos e Andrade (1992),
que descrevem:
Serra de Itabaiana
Mata Cap3 10NE.indd 167 2/23/06 11:23:47 PM
168
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
O ecossistema da regio da Mata Atlntica
envolve 5.750 Km
2
do Estado. Atualmente a co-
bertura vegetal original restringe-se a manguezais,
vegetao de restinga e remanescente da foresta
tropical mida. Tambm denominada de mata
costeira, ocupa aproximadamente uma faixa de 40
Km
2
de largura, estendendo-se de sul para norte
vindo da Bahia at Alagoas. Apresenta vrias as-
sociaes, com praias e dunas, vegetao herbcea
e ocorre desde o Rio So Francisco at o mangue
seco. Essa vegetao serve para fxar as areias das
dunas mveis. Entre essas, destacam-se salsa-da-
praia, grama-da-praia, feijo da praia, capim-gen-
gibre, xique-xique ou guizo-de-cascavel.
As associaes de restingas ocupam largura
varivel, encontrando-se nos municpios de Paca-
tuba e Pirambu, alcanando muitas vezes 10 qui-
lmetros de largura. formada de uma associao
arbustiva pereniflia, que se apresenta baixa, xero-
morfa, formando moitas com espcies de plantas
suculentas pertencentes s famlias Cactaceae,
Clusiaceae e Orchidaceae, dos gneros Vanilla e
Epidendrum. Aparecem muitas arbustivas que se
intercalam com plantas das famlias das Poaceae
e recobrem parte do solo. Nos campos de restinga,
aparecem as seguintes espcies: anans, samam-
baia-da-praia, murici-da-praia e carrasco.
Runas de igreja em antigo engenho de aucar
Mata Cap3 10NE.indd 168 2/23/06 11:23:58 PM
169
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
A vegetao dos campos de restinga reco-
brem os solos de areias quartzozas marinhas dis-
trfcas e servem para fxar dunas mveis e tam-
bm o podzol. medida que essa vegetao vai
se distanciando da linha da preamar e penetrando
para o interior, ela se miscigena com a vegetao
arbrea da restinga, sendo substituda pela mata,
que uma associao pereniflia pouco densa,
cujas rvores tm altura de quinze metros. Como
exemplo citamos angelim, cajueiro, oitizeiro-da-
praia, pitombeira, palmeira-oroba, ouricurizeiro
e araazeiros.
A associao campos de vrzea constituda
de plantas herbceas encontradas nos solos da mar-
gem direita do Rio So Francisco. uma vegetao
densa, recoberta de gramneas e ciperceas que se
encontram nos brejos ou pntanos, vrzeas midas
e alagadas, ou nas margens dos cursos de gua,
onde a gua proveniente das chuvas se acumula e
onde a drenagem insufciente para o escoamen-
to. A vegetao composta de plantas higrflas
e hidrflas, assim discriminadas: piripiri, taboa,
aninga, junco, capim-papu e capim-de-roa.
Nas matas de vrzea, aparecem algumas
espcies caduciflias. Margeando as vrzeas, os
brejos ou pntanos, desenvolve-se uma associa-
o de rvores com mais de 30 metros de altura,
de razes tabulares, enquanto outras apresentam
razes superfciais longas, que buscam a gua. A
copa das rvores grande e aberta e sua vegetao
constituda de gameleira-branca, mulungu-bran-
co, canafstula, ingazeira.
As associaes subpereniflias possuem
rvores de at 30 metros de altura e entre suas
espcies encontram-se ingapoca, visgueiro, ja-
tob, ouricuri, canafstula, amescla, taquara e
pau-dalho.
As associaes subcaduciflias apresen-
tam-se com rvores de at 20 metros de altura.
Entre as suas espcies, destacam-se frei-jorge,
camondange, maaranduba, sucupira, jenipa-
peiro, gonalo-alves, cajueiro, louro e murici-
da-mata. As associaes caduciflias mistas
com a Caatinga so constitudas de espcies
caduciflias relacionadas com a foresta atln-
tica e com espcies da Caatinga. A vegetao
dessa rea constituda, alm de rvores de 10
a 15 metros de altura, por espcies arbustivas e
herbceas, dentre as quais aroeira, pau-darco,
angico, mulungu-vermelho, cajazeira, jurema,
pau-de-leite, pau-ferro, brana-da-mata, unha-
de-gato, cedro e trapi.
A associao de plantas pode ser apenas
de herbceas ou, se essas criarem condies, ar-
bustos e depois rvores, que pontilham esparsas.
Com o decorrer dos anos, h uma regresso e as
plantas arbustivas suplantam as herbceas e de-
pois surgem rvores que conquistam toda a terra
retornando a vegetao natural primitiva. As
espcies herbceas e arbustivas dos campos an-
trpicos so capim-papu, capim-p-de-galinha,
capim-gengibre, capim-favorito, capim-seda,
carrapicho-de-agulha, carrapicho-de-roseta,
capim-amargoso, capim-sap, grama-de-burro,
carrapicho-beio-de-boi, capim-mo-de-sapo,
capim-de-raiz, anil, velamo-branco, rurema e
umbaba.
Os campos antrpicos podem surgir em qual-
quer uma das associaes pereniflias ou mistas
estacionais. Aparecem, nessas reas, extensas pas-
tagens de capim-sempre-verde, capim-brachiria
e capim-pangola.
A fauna da Mata Atlntica constituda das
seguintes espcies: paca, guaxinim, raposa, ca-
chorro-do-mato, tatupeba, veado-mateiro, tei,
camaleo, sagi, macaco-guig-de-sergipe, pre-
guia, gavio-carij, urubu-de-cabea-vermelha
e cobra-de-cip.
A gua e o homem
Sergipe possui uma rede hidrogrfca cons-
tituda por pequenas bacias fuviais, exceo da
Mata Cap3 10NE.indd 169 2/23/06 11:24:01 PM
170
O
s
e
s
t
a
d
o
s
d
a
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
AMEAAS NO NE: pgs. 199 e 227
PROJETOS NO NE: pgs. 258 e 264
A REDE NA REGIO: pgs. 289, 292, 295,
296 e 303
BIBLIOGRAFIA: pg. 319
do Rio So Francisco, cujos limites se encontram
muito alm da rea em questo.
Na regio da Mata Atlntica, existem
cinco bacias hidrogrficas: Complexo Real-
Fundo-Piau, Rio Vaza-Barris, Rio Sergipe, Rio
Japaratuba e Rio So Francisco. exceo do
Rio So Francisco, os rios apresentam regimes
hidrolgicos intermitentes nos trechos da regio
semi-rida e agreste e so permanentes nas re-
gies midas, onde formam mananciais usados
para abastecimento pblico, irrigao e recepo
de efuentes industriais e domsticos.
A disponibilidade hdrica escassa, agra-
vando-se no perodo de estiagem, como afrma
AbSaber em referncia drenagem: Um magro
sistema de cursos dgua de reas semi-ridas,
intermitentes e irregulares, dotado de fraqussi-
mo poderio energtico e so desprotegidos do
quorum de precipitaes anuais sufcientes para
os alimentar permanentemente.
O crescimento populacional, as exigncias
crescentes por energia e alimentos esto impondo
crescentes demandas aos suprimentos de gua
disponvel. Os sistemas de descarga dos detritos e
escoamento de esgotos urbanos e rurais, acrescidos
das atividades industriais e de minerao, so as
principais fontes de poluentes txicos das guas.
As guas subterrneas representam um
precioso manancial de gua doce e qualquer
poluente que entre em contato com o solo pode
contamin-las. Em Sergipe, os lenis freticos
so pouco profundos, facilitando a sua contami-
nao. H ocorrncias crescentes de contamina-
o das guas subterrneas com gua salgada,
contaminadores microbiolgicos e produtos qu-
micos inorgnicos e orgnicos txicos, incluindo
pesticidas. Prticas de irrigao tm elevado a
salinidade das guas subterrneas medida que
a gua utilizada retirada das reas da costa.
A explorao de petrleo e gs natural pode
contaminar as guas superfciais e os lenis de
guas subterrneas, mistura de gua salgada com
gua doce.
O desforestamento nas reas de bacias hi-
drogrfcas para obteno de lenha e madeira para
uso domstico e destinada ao uso comercial, alm
das pastagens e prticas de cultivos inadequados,
reduz a quantidade de gua disponvel durante as
estaes secas. Os solos erodidos, que descem
das reas elevadas, causam a sedimentao das
represas, usadas na armazenagem de gua e ge-
rao de energia. O desmatamento est causando
desertifcao de grandes reas antes com farta
cobertura vegetal.
Lizaldo Vieira dos Santos, coordenador da
RMA e Coordenador do MOPEC (SE); e Maria
Jos dos Santos, do CUPIM (SE).
Mata Cap3 10NE.indd 170 2/23/06 11:24:02 PM
171
U
m
b
i
o
m
a
s
e
m
L
e
i
?
Um bioma sem
Lei?
Mata Cap4.indd 171 2/23/06 11:27:03 PM
172
U
m
b
i
o
m
a
s
e
m
L
e
i
?
E
mbora tenham se esquecido de pri-
mos importantes da famlia dos biomas
brasileiros (o Cerrado e a Caatinga), os
constituintes de 1988 foram bastante ousados e
felizes ao defnir a Mata Atlntica como Patrim-
nio Nacional. Mais que isso, determinaram que
seu uso fosse feito, na forma da Lei, de maneira a
preservar o meio ambiente e os recursos naturais
que a integram.
Mas o que signifca do ponto de vista cons-
titucional patrimnio nacional? O que isso
representa na prtica?
H quem sustente, e com eloqncia, que na
verdade tratou o constituinte de deixar bastante
claro que a biodiversidade brasileira brasileira e
ponto! Ou seja, tratava-se de uma proteo consti-
tucional de carter menos ambiental do que de re-
ao em relao ao buxixo internacional de que
a biodiversidade planetria constitua Patrimnio
da Humanidade e por derivao a nossa Amaznia
tambm o seria. Assim a Mata Atlntica, a Floresta
Amaznica e os demais biomas e regies citados
no pargrafo 4 do art. 225 teriam sido alados ao
status de Patrimnio Nacional brasileiro.
Mas a Constituio de um pas um pacto
vivo em permanente reinterpretao e con-
frontao com a realidade dinmica da sociedade
contempornea e, portanto, para a realidade atual,
outro entendimento deve prevalecer em relao ao
conceito constitucional em discusso. No parece
fazer muito sentido sustentar que a Mata Atlntica
patrimnio da humanidade, embora determi-
nadas regies que a integram, como o Parque
Nacional do Iguau, por exemplo, assim sejam
consideradas pela Organizao das Naes Unidas
para a Educao, Cincia e Cultura (Unesco).
A Conveno de Diversidade Biolgica
defne claramente que os pases so soberanos
sobre a sua biodiversidade e assumem a respon-
sabilidade pela conservao e o uso sustentvel
de seus recursos naturais. Nesse sentido, estamos
convictos de que o principal sentido do dispositivo
constitucional aqui tratado da sustentabilidade e
da conservao efetiva do bioma, tanto pelo poder
pblico, como pela coletividade.
O voto do Ministro do Supremo Tribunal Federal
Seplveda Pertence, na Ao Direta de Inconsti-
tucionalidade de n 487-5, que a Confederao
Nacional das Indstrias moveu em face do polmico
Decreto 99.547-90, bastante revelador:
... O que vejo que, depois de afrmar
no artigo 225 que o meio ambiente eco-
logicamente equilibrado bem de uso
comum do povo, no 4, o artigo 225
estabelece duas normas: a primeira, que
a Floresta Amaznica, a Mata Atln-
tica e os demais setores territoriais, ali
mencionados, so patrimnios nacio-
nais. A difculdade de identifcao do
alcance dessa declarao de que a Mata
Atlntica constitui patrimnio nacional,
a meu ver, com todas as vnias, no
permite, malgrado a autoridade do Pro-
fessor Reale, que se diga apenas que a
Constituio o disse em sentido retrico
ou fgurado. Isso tem de ter um sentido
jurdico. E, a meu ver, pelo menos
no de descartar, primeira vista,
o que nesse debate j se aventou: que
o patrimnio nacional est aqui no
sentido de objeto de uma proteo ex-
cepcionalssima da ordem jurdica.
Parque do
Caracol em
Canela RS
Mata Cap4.indd 172 2/23/06 11:27:28 PM
173
U
m
b
i
o
m
a
s
e
m
L
e
i
?
Patrimnio nos termos do artigo 225 da
Constituio de 1988 algo que possui valor mais
que econmico, mais que privado e individualista.
Tem valor afetivo, valores imateriais (paisagens
e conhecimentos de populaes tradicionais, por
exemplo), valores intrnsecos e ticos (como a ma-
nuteno das condies que permitem e abrigam a
vida em todas as suas formas). algo que se cuida,
que se usa, sim, mas racionalmente, de acordo
com a capacidade de suporte do ecossistema, mas
se conserva e entregue o mais bem conservado
possvel prxima gerao, preferencialmente em
melhores condies do que se utilizou.
Pois bem. Se o conceito de patrimnio no
constitui exatamente o que dissemos no pargrafo
anterior em matria de direito privado, assim em
matria de direitos socioambientais, de normas
jurdicas sobre os elementos da natureza, sobre o
equilbrio ecolgico, sobre bens de uso comum
de todo povo e indispensveis digna e sadia
qualidade de vida. Resta entender o que signifca
a expresso na forma da Lei do pargrafo 4 do
artigo 225 da Constituio.
Na forma da Lei
A Constituio Federal de 1988 em seu artigo
225 remete a competncia para a defnio das
condies de uso da Mata Atlntica e seus recursos
naturais forma da Lei. A Lei aqui, respeitando en-
tendimentos divergentes, deve ser entendida no seu
sentido mais abrangente, ou seja, legislao in-
fra-constitucional, j que a Constituio no , nessa
matria, auto-aplicvel, carece de regulamentao.
A lei (em sentido estrito, ou seja, aquele ato
emanado do poder legislativo competente) em vigor
em matria forestal para todo o Pas e aplicvel
Mata Atlntica o Cdigo Florestal (Lei 4.771/65),
que defne, para alm das reas de preservao per-
manente, que a vegetao nativa deve ser mantida
ou recuperada em no mnimo 20% da rea de cada
imvel rural, embora possa ser explorada desde que
sob a forma de manejo sustentvel (exceto espcies
em extino, por fora de deciso judicial liminar
emitida no mbito de uma Ao Civil Pblica mo-
vida pelo Instituto Socioambiental em 2000, em
trmite na Justia Federal de Florianpolis).
O Cdigo Florestal permite tambm que o po-
der pblico (federal, estadual ou mesmo municipal)
pode defnir por ato do poder executivo espcies,
espcimes (indivduos) ou regies inteiras onde a
preservao deve ser total ou parcial, mesmo sem
a criao de unidades de conservao de que trata
a Lei Federal 9985/00, a tambm conhecida Lei
do Sistema Nacional de Unidades de Conservao
(SNUC).
Entretanto, o Cdigo Florestal, que determina
que no mnimo 20% da vegetao nativa nas re-
gies abrangidas pelo Domnio da Mata Atlntica
sejam conservados ou recuperados, por si s no
sufciente. E por qu?
Por que uma legislao
especfca?
A consumao de mais de 92% da Mata
Atlntica original demanda que a legislao a ela
aplicvel, se pretende garantir a sustentabilidade
do bioma enquanto tal, oriente-se pela lgica da
recuperao e tambm da conservao, cujos
parmetros devem considerar o nvel de concen-
trao de biodiversidade (do banco gentico) e de
relevncia das reas em funo da proteo dos
Manifestao pelo PL da Mata
Atlntica na Cmara dos
Deputados, em Braslia, 2003
Mata Cap4.indd 173 2/23/06 11:27:48 PM
174
U
m
b
i
o
m
a
s
e
m
L
e
i
?
recursos hdricos e dos corredores biolgicos.
Devem considerar os riscos que sobre o bioma
recaem por fora da presso oferecida pelo cres-
cimento urbano desordenado, pela demanda por
crescimento das reas rurais cultivadas, pela mine-
rao e pelas obras de infra-estrutura que induzem
ainda mais as dinmicas antes citadas.
Dizer apenas que as reas de preservao
permanente e que 20% da Mata Atlntica original
devem ser conservadas ou recuperadas no resol-
ve em termos qualitativos e condena esse bioma
eterna e crescente fragmentao, ou seja, morte
lenta e dolorosa.
Ao tratarmos de recuperao,
cujos investimentos necessrios no
so desprezveis, inclusive porque de-
manda converso de reas hoje sob uso
econmico direto para o reforestamen-
to com espcies nativas, devemos ser
precisos, justos e criteriosos. O Cdigo
Florestal deixa grande e indesejvel
margem de discricionariedade aos po-
deres pblicos, abrindo caminho para
arbitrariedades e omisses em regra
incompatveis com as lgicas ecossis-
tmicas e socioambientais. As orien-
taes para a localizao das reservas
legais feitas pelo Cdigo Florestal so
importantes, mas genricas. Delegam
isso aos zoneamentos, aos planos de
bacia hidrogrfca, planos diretores
e ao planejamento das unidades de
conservao sem, no entanto, propor
nenhum parmetro objetivo a ser segui-
do na concepo desses instrumentos
de gesto territorial.
O Decreto 750/93 oferece crit-
rios objetivos e parmetros tcnicos
para as decises dos rgos ambien-
tais sobre as reas que devem ser
conservadas e recuperadas. Tais pa-
rmetros devem orientar as decises administra-
tivas, mas tambm a concepo dos instrumentos
de planejamento do uso do territrio. A reserva
legal do Cdigo Florestal, nesse sentido, um
instrumento importante para viabilizar a conser-
vao ou a recuperao da Mata Atlntica, desde
que bem orientada a partir dos critrios defnidos
pela legislao especfca.
Da mesma forma, os zoneamentos, planos
de bacia e planos de manejo de unidades de con-
servao tambm devem adotar esses critrios
em suas diretrizes sobre uso e ocupao do solo.
A reside a composio necessria entre legisla-
Bromlia Poo-de-jac: ameaada de extino
Mata Cap4.indd 174 2/23/06 11:28:16 PM
175
U
m
b
i
o
m
a
s
e
m
L
e
i
?
o especfca para a Mata Atlntica (seja ela o
Decreto 750/93, seja a to esperada e batalhada
Lei da Mata Atlntica, ou mesmo as Resolues
do Conselho Nacional do Meio Ambiente a ela
aplicveis) e a Lei geral de forestas do Pas, o
Cdigo Florestal de 1965.
A partir da legislao especfca que se consoli-
dam as condies e os critrios objetivos que devero
orientar a deciso dos rgos ambientais, no apenas
sobre o tamanho ou a localizao das reservas legais e
sobre a explorao de espcies do bioma, mas tambm
para a anlise dos impactos socioambientais de em-
preendimentos causadores de signifcativos impactos
ambientais.
Portanto, o que precisa fcar bastante claro que a
lei geral no exclui ou dispensa a especfca, ao contrrio,
a sinergia entre ambas que garantir, em tese, a real
conservao e recuperao do bioma. Em tese, porque
a Lei no opera de per si. necessrio que os rgos do
Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama) estejam
fortalecidos e a coloquem efetivamente em prtica.
Consideraes fnais
Como consideraes fnais h duas coisas a
dizer. A primeira que a desestruturao crescente
dos rgos de gesto ambiental no Pas um fator
crucial para a atual inefccia da legislao forestal.
No basta uma boa lei, necessrio que a sociedade
se organize e esteja devidamente preparada para as
discusses sobre oramento, que a sociedade aprenda
a se envolver mais e nos momentos oportunos sobre as
agendas polticas que defnem os recursos que sero
investidos na manuteno das estruturas e programas
de conservao e recuperao da Mata Atlntica. E
que batalhem por mais recursos para os rgos de
planejamento e fscalizao ambiental. Mas, mais
que isso, que fscalizem o efetivo investimento dos
recursos garantidos, pois sem recursos no h poltica
ambiental, h discursos e consensos ocos, parafra-
seando a ministra Marina Silva em discurso feito em
Campos do Jordo, nas comemoraes da semana da
Mata Atlntica, em maio de 2005.
Lideranas da Mata Atlntica em Encontro Nacional da Rede, 2003
Mata Cap4.indd 175 2/23/06 11:28:47 PM
176
U
m
b
i
o
m
a
s
e
m
L
e
i
?
Outro ponto a destacar que, para alm de uma
boa lei e de recursos para planejamento, controle
e monitoramento ambiental, fundamental que o
governo (o Estado), em suas diferentes esferas (da
municipal federal) assuma que, sem incentivos
econmicos em escala, as atividades sustentveis
tm poucas chances de concorrer com atividades
predatrias, culturalmente consolidadas.
A agricultura em todo o planeta sobrevive
custa de subsdios pblicos. Se assim para
agricultura, que uma atividade crucial para o
desenvolvimento do Brasil, embora seja tambm
uma das que mais causou e continua causando
impactos nos nossos ecossistemas, por que no
pode haver apoio e incentivos sufcientes para ati-
vidades de turismo ecolgico na Mata Atlntica?
Por que no pode haver incentivos para atividades
de manejo forestal (no-madeireiro) na Mata
Atlntica? Por que no pode haver subs dios em
escala para o desenvolvimento de atividades de
recuperao de reas degradadas, que tambm
geram renda e emprego?
Enfm, todos sabem que apenas comando
e controle, lei e polcia no resolvem, embora
sejam atividades fundamentais. Mas precisamos
de uma lei prpria para a Mata Atlntica, sim, que
seja compatvel e complemente o que o Cdigo
Florestal prev para a regio. Mas precisamos
tambm de uma poltica especfca voltada para o
controle, monitoramento e o desenvolvimento de
atividades econmicas adequadas ao bioma. Se
que estamos falando de um Patrimnio Nacional
cujo uso deve ser feito de forma a garantir a pre-
servao do meio ambiente e da vida em todas
as suas formas.
Andr Lima advogado e mestre em Poltica e
Gesto Ambiental, pelo Centro de Desenvolvi-
mento Sustentvel (UnB) e faz parte da equipe
do Programa de Poltica e Direito Socioambiental
do Instituto Socioambiental (ISA)
Bibliografa: pg 322
Desmatamento do incio do sculo passado: processo que ainda persiste em algumas regies
F
o
t
o
:
A
r
q
u
i
v
o
A
p
r
e
m
a
v
i
Mata Cap4.indd 176 2/23/06 11:28:50 PM
177
A
l
u
t
a
p
e
l
a
p
r
e
s
e
r
v
a
o
A luta pela
preservao
Mata Cap5.indd 177 2/23/06 11:30:16 PM
178
A
l
u
t
a
p
e
l
a
p
r
e
s
e
r
v
a
o
A
o longo da histria, a exuberante e rica
diversidade de fauna e fora da Mata
Atlntica fascinou alguns dos mais
famosos cientistas da humanidade. Entre eles
cabe mencionar Charles Darwin, que visitou o
Brasil em meados do sculo XIX, para coletar
informaes para a teoria da evoluo, tendo
depois mantido contato e trocado informaes
durante diversos anos com o botnico alemo Fritz
Mller, radicado em Blumenau, Santa Catarina. O
francs Saint-Hilaire esteve no Brasil durante seis
anos e depois publicou 14 volumes de memrias
e descries botnicas. Alm destes, o alemo
Georg Heinrich Langsdorff, os austracos Karl
Friedrich Philip von Martius e Johan Baptist Von
Spix descreveram centenas de espcies de plantas
e animais no sculo XIX.
Entre os cientistas brasileiros, Paulo Nogueira-
Neto, professor titular de Ecologia da Universidade
de So Paulo, teve papel de destaque na criao e
implantao da Secretaria de Meio Ambiente de
So Paulo e na Secretaria Especial de Meio Am-
biente federal, precursora do Ministrio do Meio
Ambiente. Pioneiro na defesa da Mata Atlntica na
regio do Pontal do Paranapanema, em So Paulo,
Nogueira-Neto tambm integrante e fundador
de diversas Organizaes No-Governamentais e
responsvel pela criao de importantes parques,
alm de ter contribuio inestimvel no aperfei-
oamento e aprovao de leis ambientais como a de
n 6.938 de 1981, que criou o Conselho Nacional
do Meio Ambiente (Conama).
Tambm o Almirante Ibsen de Gusmo Cmara
sempre se dedicou aos estudos da natureza e, como
presidente da Fundao Brasileira para a Conserva-
o da Natureza (FBCN), colaborou ativamente na
criao de reas protegidas como a Estao Ecol-
gica Juria-Itatins, no litoral de So Paulo.
A luta pela defesa e conservao do meio
ambiente no Brasil comeou a ganhar fora no
incio da dcada de 1970, com a criao da Asso-
ciao Gacha de Proteo do Ambiente Natural
(Agapan), primeira organizao ambientalista que
incorporou uma viso poltica, dando maior am-
plitude s questes ambientais e relacionando-as
com as polticas industriais e agrcolas.
Ao longo da dcada de 1980, houve um cres-
cimento signifcativo do movimento ecologista,
em quantidade de organizaes e capacidade de
atuao. Essas organizaes contriburam para
que comeasse uma lenta e gradual mudana
na conscincia do povo brasileiro em relao ao
meio ambiente.
Em 1992, durante a realizao da Conferncia
Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
(Rio-92), as organizaes ambientalistas e socio-
ambientais com atuao no bioma Mata Atlntica
criaram a Rede de ONGs Mata Atlntica, com o
objetivo de dar respostas que as instituies indivi-
dualmente no eram capazes de dar, especialmente
frente aos governos e s polticas pblicas que
afetam a Mata Atlntica em nvel nacional. A Rede
Luta contra
barragens
no Vale do
Ribeira
Joo Paulo
Capobianco
e Paulo
Nogueira-
Netto: lideres
da luta
pela Mata
Atlntica
Mata Cap5.indd 178 2/23/06 11:30:34 PM
179
A
l
u
t
a
p
e
l
a
p
r
e
s
e
r
v
a
o
de ONGs da Mata Atlntica congrega 300 ONGs
que trabalham pela defesa, preservao e recupe-
rao da Mata Atlntica em nvel nacional. Atravs
da campanha Mata Atlntica Desmatamento
Zero, a Rede est empenhada em conscientizar a
sociedade para a necessidade de conservar a Mata
Atlntica e acabar de vez com os desmatamentos
ilegais e desnecessrios.
Regenerao
A mudana na conscincia da populao vem
se refetindo na queda do ndice de desmatamento
no bioma. Mesmo assim, entre 1990 e 1995, mais
de 500.000 hectares de Mata Atlntica foram
destrudos para dar lugar expanso das cidades,
assentamentos de reforma agrria, pecuria, plan-
tio de pinus e eucaliptos e para fornecer lenha para
a secagem do fumo. Esse desmatamento foi trs
vezes maior, proporcionalmente, do que o verif-
cado na Amaznia no mesmo perodo. Atualmente
persistem atividades madeireiras predatrias em
alguns estados, principalmente na Bahia, Paran
e Santa Catarina.
A partir de 1990, um fato novo comeou
tambm a ser observado na Mata Atlntica. J no
aconteciam apenas desmatamentos, mas tambm
regenerao natural e espontnea de forestas.
Segundo o Atlas dos Remanescentes Florestais
e Ecossistemas Associados no Domnio da Mata
Atlntica (SOS, INPE, ISA), entre 1990 e 1995,
aproximadamente 70.000 hectares passaram do
estgio inicial para o mdio ou avanado de rege-
nerao no estado de Santa Catarina. O problema
que continuam sendo desmatadas forestas pri-
mrias ricas em biodiversidade e a regenerao
espontnea forma forestas secundrias, muito
mais pobres em espcies.
A criao de Batalhes de Polcias Ambien-
tais e Florestais em diversos estados e a aprovao
de leis mais rigorosas, especialmente o Decreto
750/93, proibindo o desmatamento em reas de
foresta primria e nos estgios mdio e avanado
de regenerao, foram decisivas para iniciar a
reverso da marcha do desmatamento.
Outro fator importante para a diminuio do
desmatamento foi a atuao dos Ministrios P-
blicos Federal e Estaduais aps a Constituio de
1988, quando passaram a ter entre suas atribuies
a defesa do meio ambiente. Os Procuradores da
Repblica e os Promotores Pblicos passaram a
exercer papel de fscais do cumprimento da lei,
tanto por parte da sociedade quanto dos rgos
pblicos, como o Ibama e
os rgos estaduais.
Vale destacar ainda a
participao ativa dos rgos
de imprensa e comunicao,
especialmente de alguns
profssionais que passaram a
divulgar cada vez mais not-
cias sobre crimes ambientais
e tambm sobre alternativas
de desenvolvimento sem
agredir o meio ambiente.
Se a diminuio do
ritmo do desmatamento no
foi obra do acaso, a recu-
Plantio de
araucria
em encontro
da RMA em
Campos do
Jordo, 2005
Mata Cap5.indd 179 2/23/06 11:30:47 PM
180
A
l
u
t
a
p
e
l
a
p
r
e
s
e
r
v
a
o
perao tambm ser tarefa de muitos setores
da sociedade: Ministrio Pblico, pesquisa-
dores, imprensa, polticos, rgos ambientais,
moradores urbanos, empresrios, ecologistas
e, principalmente, proprietrios de terra, pois
sero estes os benefcirios diretos da preser-
vao e recuperao das forestas e da capaci-
dade produtiva de suas terras. Levando-se em
considerao que restam apenas cerca de 7,8%
de remanescentes da Mata Atlntica e que o
ndice estabelecido pelas Naes Unidas, para
a manuteno de uma boa qualidade de vida,
de cerca de 30%, ainda existe muito trabalho a
ser feito em termos de recuperao.
Opinio pblica
Uma pesquisa de opinio nacional rea-
lizada pelo Vox Populi em setembro de 2001
apontou que 95% dos entrevistados acreditam
que a conservao ambiental no prejudica o
Sobrevivncia
das espcies
nas mos da
sociedade
desenvolvimento do Brasil, pois existem muitas
atividades econmicas rentveis que no agri-
dem o meio ambiente e que geram empregos
para os brasileiros. A pesquisa tambm mostrou
que 92% dos entrevistados entendem que os
proprietrios, em qualquer regio do Brasil,
que desmataram as reas consideradas pela lei
como sendo de preservao permanente, loca-
lizadas em torno de nascentes, margens de rios
e lagos, topos e encostas de morros e que tm o
objetivo de evitar enchentes, desmoronamentos
e falta dgua, devem ser multados e obrigados
a recompor a vegetao da rea ilegalmente
desmatada.
J 92% dos brasileiros s admitem mu-
danas nas leis que protegem as forestas se
for para aumentar a proteo. Alm disso, os
entrevistados deram um recado aos polticos,
mostrando que 94% no votariam em um depu-
tado ou senador que defende o aumento da rea
de desmatamento das forestas brasileiras.
Mata Cap5.indd 180 2/23/06 11:31:01 PM
181
A
l
u
t
a
p
e
l
a
p
r
e
s
e
r
v
a
o
A conservao vista por dentro
Liderana na luta pela Mata Atlntica
desde os anos 1980, o bilogo e atual secretrio
Nacional de Biodiversidade do Ministrio do
Meio Ambiente, Joo Paulo Capobianco, fala
sobre a mobilizao que conseguiu reverter o
processo que levou a Mata Atlntica quase
extino e sobre os desafos e perspectivas para
a recuperao do bioma.
Quais foram os pioneiros
na luta contra a destruio
da Mata Atlntica?
Em nvel nacional, pessoas como Ibsen de
Gusmo Cmara, Paulo Nogueira-Netto e Maria
Tereza Jorge Pdua, mesmo no sendo uma pessoa
que atuava na Mata Atlntica, so pessoas que tive-
ram uma insero importante. Do ponto de vista da
minha trajetria pessoal, porm, houve um episdio
especial, que foi a luta pela preservao da Juria,
no Vale do Ribeira, em So Paulo. Eu era fotgrafo
e meu amigo Rubens Matuck, artista plstico, foi
contratado por uma editora para fazer um trabalho
sobre os ecossistemas brasileiros e me convidou. Um
dos lugares era a Mata Atlntica e tivemos a sugesto
de uma professora de ir Juria. Foi nessa ocasio
que entrei diretamente na luta ambiental. Nessa
poca, uma das pessoas que mais me surpreendeu
foi Ernesto Zwarg, que no era um ambientalista
conhecido, mas fez todo o processo de preservao
da Juria, nos anos 1970. uma pessoa de l mesmo
e impressionante ver nos arquivos de imprensa
da poca o que ele fez. Paralelamente, houve um
processo importante e reuniu-se todo mundo que
fundou a SOS Mata Atlntica. Havia vrias pessoas
operando simultaneamente em muitos canais. Vises
diferentes e pessoas de diferentes reas comearam
a pautar o assunto Mata Atlntica.
O movimento pela
preservao da Juria fez a
Mata Atlntica fcar mais co-
nhecida?
A Juria foi um movimento muito forte.
Tinha um apelo grande, porque era uma rea
bastante prxima a So Paulo e muito preservada,
sob a qual pesava o estigma das usinas nucleares.
Ela juntava a natureza com a questo nuclear, no
momento em que a populao comeava a reagir
contra o programa nuclear brasileiro. Foi justa-
mente no momento em que Fernando Gabeira,
que tinha sido exilado poltico na Alemanha e
viveu o movimento anti-nuclear naquele pas,
trouxe essa preocupao para o Brasil. A Juria se
tornou um movimento de muita visibilidade em
um espao de tempo curto. Mas foi simultneo
histria da SOS Mata Atlntica. Na realidade,
a Juria apareceu muito, mas logo depois surgiu
a SOS Mata Atlntica. A Juria foi criada em
setembro e a SOS em novembro de 1986. Ambos
os processos juntaram muitas lideranas, como
Rodrigo Mesquita, Roberto Klabin, Randal Mar-
ques, que fundaram a SOS. E a SOS ps a Mata
Atlntica no debate nacional.
A partir de que momento a
ao das organizaes no-
governamentais comearam
a fazer diferena para
desacelerar o processo de
destruio da Mata Atlntica?
Vrias ONGs foram criadas nesta me-
tade da dcada de 1980, cada uma com seus
objetivos, como a Fundao Pr-Natureza
(Funatura), com o Cerrado, a Biodiversitas,
com vis mais cientfco. Foi um momento
ENTREVI STA
Mata Cap5.indd 181 2/23/06 11:31:02 PM
182
A
l
u
t
a
p
e
l
a
p
r
e
s
e
r
v
a
o
de efervescncia de movimentos, marcada
tambm pelo surgimento de fundaes, j que,
at ento, as entidades ambientalistas eram em
geral ativistas. Como a Associao Gacha de
Proteo Ambiental (Agapan), uma das pri-
meiras do Brasil, ou a prpria Pr-Juria, que
era uma associao. Mas nesta metade fnal da
dcada de 80 comearam a surgir fundaes:
Fundao Biodiversitas, Funatura, Fundao
SOS Mata Atlntica e outras, num processo
em que uma estimulou a outra, embora seus
caminhos fossem diferentes. No caso da Mata
Atlntica, num primeiro momento, a SOS Mata
Atlntica teve um papel muito importante. Foi
a primeira instituio, depois da Pr-Juria, a
ousar uma campanha de mdia muito bem suce-
dida e acabou liderando um processo de vrias
pequenas instituies, criando uma agenda
mais integrada sociedade, que comeou a
gerar resultados rapidamente. Embora tenha
sido criada com esse esprito de comunicao,
de mobilizao da opinio pblica, j no fnal
da dcada de 1980, percebeu a necessidade de
comear a trabalhar informaes prticas, para
sustentar uma campanha mais objetiva. Ento
foi feito o mapeamento da Mata Atlntica,
no incio da dcada de 1990. A busca por um
marco legal para a Mata Atlntica tambm foi
iniciada nesse momento. As contribuies ob-
jetivas, alm da criao da Estao Ecolgica
de Juria-Itatins, comeam a aparecer no incio
dessa dcada: o mapeamento da Mata Atlnti-
ca, a defnio do Domnio da Mata Atlntica,
em 1992, e o Decreto 750, em 1993. Tudo isso
tambm em um momento de efervescncia por
conta da Rio-92. Foi um momento nico no
Brasil, quando a questo ambiental rapidamen-
te fcou em evidncia, com grande capacidade
de ao. O ento deputado Fbio Feldmann,
na Constituinte, em 1988, conseguiu muitos
avanos para o ambientalismo no Brasil.
Qual o papel da criao
da Rede de ONGs da Mata
Atlntica nesse processo?
A Rede foi criada em 1992, durante a
Conferncia das Naes Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92), em
uma reunio durante o Frum Global - a reu-
nio das ONGs durante a Conferncia. Foi
bastante interessante, pois a Rio-92 permitiu
que se reunissem no Rio de Janeiro todas as
instituies que operavam no Brasil e a se
descobriu que havia um nmero muito grande
de entidades com diferentes caractersticas e
objetivos j operando na Mata Atlntica.
E num momento em que,
apesar de recente, no se tinha
a facilidade de comunicao
que se tem hoje...
A Rede s foi possvel porque o processo da
Rio-92 propiciou o encontro. As instituies, na
verdade, se descobriram na Rio-92. Todas elas
foram para o Rio pela Conferncia Internacional
e ali se conheceram e montaram estratgias cole-
tivas. A Mata Atlntica rapidamente se constituiu
em um grupo, uma rede com uma agenda, focada
no Decreto 750 e na sua regulamentao, atravs
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Cona-
ma). Foram mais de 18 resolues, votadas em
tempo recorde e tambm o Projeto de Lei, que
est no Congresso Nacional.
Mata Cap5.indd 182 2/23/06 11:31:03 PM
183
A
l
u
t
a
p
e
l
a
p
r
e
s
e
r
v
a
o
Podemos considerar
que a importncia da
Mata Atlntica e os servios
que ela presta esto
internalizados pela
populao?
A Mata Atlntica se tornou um smbolo,
uma prioridade. algo que mobiliza as pes-
soas. H de fato uma internalizao da questo.
Porm, existe uma difculdade inerente ques-
to ambiental, que o fato de que muitas vezes
as aes necessrias implicam em mudana de
comportamento e hbitos culturais, opes que
muitas vezes as pessoas no esto preparadas
ou interessadas em adotar e escolher. A h
um processo contraditrio. Todo mundo a
favor do meio ambiente, desde que a obrigao
seja do outro ou no quintal do outro. muito
fcil mobilizar para grandes questes, grandes
ameaas, mas quando so questes que mexem
com comportamento, com procedimentos que
as pessoas fazem pessoalmente, elas tm dif-
culdade de operar e apoiar.
D para dizer que a luta
pela preservao da Mata
Atlntica hoje uma luta
para se recuperar parte do
que se perdeu ou ainda
vivemos um processo de
destruio intenso?
Precisamos parar de insistir na tese dos
7% de remanescentes. O mote da ameaa de
destruio foi o que mobilizou e articulou as
pessoas e deu o sentido de urgncia. No entan-
to, temos processos extremamente positivos
de recuperao. H regies onde estabilizou o
desmatamento ou no h mais desmatamentos.
Existem questes localizadas, por exemplo, em
Santa Catarina, na regio de foresta ombrf-
la mista, das araucrias, onde ainda ocorrem
desmatamentos. H problemas na Bahia, onde
tambm h focos de desmatamento, mas no
h dvida de que a agenda hoje outra, com
uma coalizo de interesses em favor da Mata
Atlntica. Temos setores privados atuando em
rea de Mata Atlntica, governos sensveis que
trabalham com sistemas de monitoramento
bem articulados. Acredito que estamos numa
fase de recuperao mesmo. Fase de redes-
coberta da Mata Atlntica, de valorizao e
recuperao de reas e um momento muito
positivo, inclusive com incremento de reas
em muitas regies do Brasil, inclusive em So
Paulo, onde h recuperao de Mata Atlntica,
no s no litoral, mas tambm no interior.
E quais so os prximos
passos? O que seria mais
importante daqui para frente?
fundamental um esforo concreto e
consistente de recuperao. A Mata Atlntica
tem em algumas regies uma capacidade de
regenerao espantosa. H regies litorneas
e serranas, onde em um intervalo de 5 a 10
anos j se consegue processos avanados de
recuperao. Agora temos um problema de
confito constante nas regies de mananciais
e So Paulo um grande exemplo, com as
represas Billings e Guarapiranga, onde ainda
h desmatamento. Por isso, no d para dizer
que agora s recuperao e implantao de
projetos de uso sustentvel. Precisa haver uma
Mata Cap5.indd 183 2/23/06 11:31:03 PM
184
A
l
u
t
a
p
e
l
a
p
r
e
s
e
r
v
a
o
agenda que opere simultaneamente, mas
importante se assinalar, reconhecer e divulgar
que a luta pela Mata Atlntica uma luta vi-
toriosa. Efetivamente samos de um momento,
na dcada de 1980, em que a Mata Atlntica
caminhava para a extino. Agora o desafo
uma agenda de recuperao e ampliao de
reas em vrios locais onde ela foi degradada
e precisa ser recuperada.
Dentro desse quadro,
qual o papel da sociedade
civil, do governo, das ONGs
e das empresas?
Precisamos ainda criar unidades de con-
servao em reas preciosas, que mereceriam
estar sendo protegidas, tanto para garantir a sua
preservao de forma permanente quanto para
se proteger o patrimnio gentico. Alm disso,
as tcnicas para produo de mudas evoluram
muito nos ltimos anos. Um grande desafo
seria pegar extensas reas, como o Vale do
Paraba, por exemplo, com solos abandonados
e erodidos, e implementar programas regionais
de recuperao em grande escala. Isso porque
o grande problema das aes de recuperao
de Mata Atlntica sua pulverizao. muito
difcil demonstrar o resultado. Se houvesse um
esforo de integrao de organizaes pblicas
e privadas, proprietrios de reas em regies
crticas, como o Vale do Paraba e outras,
poderamos dar escala a essa ao e isso se
transformaria em uma bola de neve, porque
quando voc demonstra, cria possibilidade de
replicao em outras regies.
5 Encontro Nacional de Entidades Ambientalistas em Braslia, 1992
F
o
t
o
:
A
r
q
u
i
v
o
A
p
r
e
m
a
v
i
Mata Cap5.indd 184 2/23/06 11:31:17 PM
185
A
v
o
z
c
o
l
e
t
i
v
a
d
a
m
a
t
a
A voz coletiva da mata
Mata Cap6.indd 185 2/23/06 11:33:11 PM
186
A
v
o
z
c
o
l
e
t
i
v
a
d
a
m
a
t
a
N
as ltimas dcadas, dezenas de orga-
nizaes no-governamentais foram
criadas, ao longo de todo o territrio na-
cional, visando salvar e restaurar os remanescen-
tes de um bioma que presta servios ambientais e
sociais para a maior parte da populao brasileira.
Alis, se h ainda alguns remanescentes, porque
a sociedade conta com esse segmento, que luta
muito, bravamente, para proteger esses ambientes
naturais. As organizaes no-governamentais
ambientalistas batalham em vrios campos no
parlamento, na comunidade local , tentando
infuenciar polticas nacionais e em espaos da
mdia pela preservao do segundo bioma mais
ameaado do mundo, que s perde para as fores-
tas de Madagascar.
Do Nordeste ao Sul do Brasil, as ONGs per-
ceberam que seria muito mais efciente e efetiva
essa luta se tivesse uma organizao que repre-
sentasse todas elas, a fm de formar uma grande
teia de informao e de relaes entre as entidades
para fortalecer a defesa da Mata Atlntica. Foi
durante a realizao da Conferncia das Naes
Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento (Rio-92), que o movimento ambientalista
da Mata Atlntica deu o passo decisivo na sua
organizao e atuao nacional, com a criao de
sua rede. Surge assim, no fervor das discusses
ambientais, nacionais e internacionais, a Rede de
ONGs da Mata Atlntica (RMA).
A proposta partiu de um debate organizado
pela Fundao SOS Mata Atlntica com a parti-
cipao da Associao de Preservao do Meio
Ambiente do Alto Vale do Itaja (Apremavi), da
Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Edu-
cao Ambiental (SPVS), da Sociedade Nordes-
tina de Ecologia (SNE) e da Fundao Brasileira
para a Conservao da Natureza (FBCN), dentro
da programao do Frum Global, evento simul-
tneo Rio-92, o maior evento j realizado sobre
a sade do planeta.
Nesse debate, constatou-se que entidades lo-
cais necessitavam de informao e, principalmen-
te, de respaldo poltico para o desenvolvimento e
efccia das suas aes. Em junho daquele ano, foi
realizada a reunio de criao da Rede de ONGs
da Mata Atlntica. O encontro aconteceu no F-
rum Global-92, com a participao de 46 ONGs.
Destas, 15 formaram a Comisso de Criao,
responsvel pela elaborao do documento que
defniria a nova entidade.
O objetivo era tecer uma rede para a defesa,
preservao e recuperao da Mata Atlntica, atra-
vs da promoo de intercmbio de informaes,
da mobilizao, da ao poltica coordenada e
do apoio mtuo entre as ONGs e, dessa forma,
produzir o fortalecimento das aes locais e re-
gionais das entidades fliadas. A rede foi criada
para tentar apresentar solues que as instituies
individualmente no eram capazes de fornecer.
Um ano depois, em 1993, na primeira reunio
nacional da Rede, durante o Frum Brasileiro de
ONGs e Movimentos Sociais, a RMA contava
com 30 entidades fliadas. Em 1994, esse nmero
chegou a 118 ONGs.
Hoje, com 300 instituies fliadas, entre
organizaes ambientalistas, socioambientais
e de pesquisa, distribudas nos 17 estados que
se encontram no Domnio da Mata Atlntica, a
Rede vista como um coletivo legtimo e repre-
sentativo.
Frum
Global na
Rio 92
Mata Cap6.indd 186 2/23/06 11:33:13 PM
187
A
v
o
z
c
o
l
e
t
i
v
a
d
a
m
a
t
a
Conquistas
Passados quase 14 anos desde sua fundao,
a Rede coleciona conquistas. Em nvel nacional,
a RMA atua monitorando e articulando interesses
junto ao P oder Executivo e ao Poder Legislativo,
formulando propostas para aprimoramento da
legislao e, facilitando e promovendo a parti-
cipao abrangente das entidades fliadas nas
polticas pblicas do Pas que tenham infuncia
no bioma. Tambm atua na criao de programas
de apoio aos projetos e iniciativas desenvolvidos
pelas instituies fliadas e no desenvolvimento de
mecanismos de participao social que permitam
orientar as diretrizes e avaliar os resultados das
aes governamentais.
Uma das maiores reivindicaes da RMA
j realidade: a criao de programas voltados
obteno de recursos para as ONGs desenvolve-
rem seus prprios projetos. Hoje isso possvel,
atravs do Subprograma de Projetos Demonstra-
tivos (PDA), que foi criado em 1994, dentro do
Programa Piloto para a de Proteo das Florestas
Tropicais do Brasil (PPG7), inicialmente para
atender a Amaznia.
Desde o incio das discusses do PPG7, a so-
ciedade civil, atravs da RMA, reivindicou maior
ateno, por parte do Programa, s demandas do
bioma. Depois de muito debate, foi criado o PDA
Mata Atlntica que tem como objetivo apoiar
aes de conservao, uso sustentvel e monito-
ramento do bioma. Na sua etapa inicial, fases I, II
e Consolidao, o PDA benefciou 56 projetos e
no primeiro edital da PDA Mata Atlntica, j em
2005, foram contemplados 50 projetos.
Outra grande reivindicao da Rede, conquis-
tada no ano 2000, foi a implantao, no Ministrio
do Meio Ambiente, do Ncleo da Mata Atlntica,
que j realizou vrias aes em prol do bioma e
que est elaborando o Programa Mata Atlntica,
com o objetivo de colocar a conservao da Mata
Atlntica defnitivamente na pauta dos vrios
setores da sociedade brasileira.
O processo de crescimento da RMA como
organizao nacional articuladora da luta para a
defesa da Mata Atlntica tambm pode ser ilus-
trado por sua interveno em polticas pblicas,
no mbito de representaes em comisses e
conselhos voltados discusso e formulao
de polticas pblicas que afetam direta ou indire-
tamente a Mata Atlntica.
Os principais conselhos nos quais a RMA
est representada so: Grupo de Trabalho da
Mata Atlntica no Ministrio do Meio Ambiente,
Comisso Executiva do PDA, Comisso Nacional
do Programa Nacional de Biodiversidade, Cma-
ras Tcnicas do Conselho Nacional de Recursos
Hdricos, Comisses de Coordenao Brasileira
e Conjunta do Programa Piloto para a Conserva-
o das Florestas Tropicais Brasileiras (PPG7),
Comisso Coordenadora do Programa Nacional
de Florestas (Conafor), Conselho Nacional das
Cidades, Conselho Nacional e Comits Estaduais
do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da
Mata Atlntica, Conselho do Projeto Corredores
Ecolgicos, dentre outros. Alm disso, vrias ins-
tituies fliadas Rede fazem parte do Conselho
Nacional do Meio Ambiente (Conama).
Em suas aes, a RMA tambm prioriza
parcerias com outras redes e coalizes, no sentido
de fortifcar ainda mais a atuao em defesa do
meio ambiente. Tm se destacado as parcerias
com o Grupo de Trabalho Amaznico (GTA), a
Representantes da RMA
na aprovao do PL Mata
Atlntica na Cmara , em
dezembro de 2003
F
o
t
o
:
B
r
u
n
o
M
a
c
i
e
l
Mata Cap6.indd 187 2/23/06 11:33:35 PM
188
A
v
o
z
c
o
l
e
t
i
v
a
d
a
m
a
t
a
Rede Cerrado, a Rede Pantanal, a Coalizo Rios
Vivos, a Inter-redes, a Rede Brasileira de Educa-
o Ambiental e o Frum Brasileiro de ONGs e
Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento (FBOMS).
Articulao
no mbito das articulaes que se trava
o que pode ser considerada a grande batalha da
Rede e que at se confunde com sua existncia
a luta por uma legislao de proteo especfca
para a Mata Atlntica. J em 1993, a edio do
decreto 750 um marco na histria do bioma. O
decreto, assinado em 10 de fevereiro de 1993, que
dispe sobre o corte, a explorao e a supresso
de vegetao primria ou nos estgios avanado
e mdio de regenerao da Mata Atlntica, com
certeza imps uma nova correlao de foras
com a frente de destruio, e, colocando novas
regras para enquadrar os degradadores, deu um
novo flego foresta em perigo. Atravs de
resolues do Conama, o Decreto 750/93 teve
regulamentaes em 15 estados do bioma e ainda
continua em vigor.
O Conama tambm tem sido palco de con-
quistas importantes acompanhadas de perto pela
RMA, como a aprovao da Resoluo 240/1998,
que suspendeu a explorao predatria da Mata
Atlntica no Sul da Bahia e a aprovao da Reso-
luo 278/2001, que proibiu o manejo comercial
de espcies da Mata Atlntica ameaadas de extin-
o, e a aprovao das Diretrizes para a Poltica
de Conservao e Desenvolvimento Sustentvel
da Mata Atlntica, em dezembro de 1998.
A RMA assumiu como uma de suas prin-
cipais metas o aperfeioamento da legislao
que rege a defesa, a proteo e o uso sustentvel
do bioma. Desde 1992 tem se destacado como
Manifestao em prol do PL Mata Atlntica, Braslia, 2003
Mata Cap6.indd 188 2/23/06 11:33:59 PM
189
A
v
o
z
c
o
l
e
t
i
v
a
d
a
m
a
t
a
interlocutora junto ao Congresso Nacional e ao
Governo Federal nas negociaes do Projeto de
Lei n 3.285/92, a Lei da Mata Atlntica. Esse
Projeto de Lei regulamenta a Constituio Federal
no que diz respeito conservao, proteo e uti-
lizao do Bioma Mata Atlntica e, aps 11 anos
de tramitao, no dia 3 de dezembro de 2003, foi
fnalmente aprovado na Cmara dos Deputados.
E aps mais trs anos, foi aprovado no Senado no
dia 14 de fevereiro de 2006.
A Rede utilizou vrias formas de mobilizao
para que o projeto fosse aprovado. Aproveitou
a Campanha Desmatamento Zero, iniciada em
1998, que entregou 300 mil assinaturas Cmara
dos Deputados. A campanha foi respaldada com os
dados do Atlas da Evoluo dos Remanescentes
Florestais e Ecossistemas no perodo de 1990
1995, produzido pela Fundao SOS Mata Atln-
tica, o Instituto Socioambiental (ISA) e o Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).
A Lei da Mata Atlntica muito importante,
porque fundamental para a implantao de di-
retrizes e polticas de proteo e recuperao da
Mata Atlntica. Ela traz inmeros pontos favor-
veis recuperao de reas em regenerao e
proteo do que ainda existe de Mata Atlntica e
seus ecossistemas associados.
Entre os avanos, defne e regulamenta os
critrios para uso e proteo do bioma e apresenta
vrios avanos com relao ao Decreto 750/93,
principalmente na rea econmica e fnanceira,
prevendo inclusive a criao de um Fundo para
contemplar projetos de recuperao e conserva-
o. Impede o corte da mata primria e vincula a
explorao da mata secundria ao cumprimento
de vrias condies, a fm de proteger seus re-
manescentes.
Ainda prope uma viso moderna de conser-
vao, oferece alternativas de desenvolvimento
sustentvel e incentivos econmicos proteo da
Mata Atlntica. Cria incentivos fnanceiros para
restaurao dos ecossistemas, estimula doaes
da iniciativa privada para projetos de conserva-
o e diferencia produtos explorados de forma
sustentvel.
O Dia Nacional da Mata Atlntica, 27 de
maio, institudo por decreto presidencial, tem sido
a cada ano uma data para comemorar as grandes
conquistas, mas tambm um dia para lembrar que
a Mata Atlntica continua ameaada e que ainda
vai precisar de muitas aes em prol de sua defesa
e proteo.
Casos emblemticos
Casos como o da Estrada do Colono, no Par-
que Nacional de Iguau (PR), em 2001, que aca-
bou com um desfecho feliz para os ambientalistas
Encontro
Nacional da
RMA, So
Paulo, 2002
Mata Cap6.indd 189 2/23/06 11:34:27 PM
190
A
v
o
z
c
o
l
e
t
i
v
a
d
a
m
a
t
a
e a foresta, mas tambm como o da construo
da Usina Hidreltrica de Barra Grande, que teve
um desfecho trgico, no deixam a RMA esquecer
de seus objetivos e que ainda h muito a fazer. S
para listar, alguns exemplos.
A RMA sempre utilizou muito a sua capaci-
dade de mobilizao para tentar barrar projetos
ambientalmente insustentveis. Manifestou-se
contra o projeto de Transposio do Rio So Fran-
cisco. Para a Rede, a iniciativa no vai minimizar
as enormes carncias dos habitantes por onde
passa o rio e muito menos revitaliz-lo.
O projeto da Usina Hidreltrica de Tijuco
Alto, obra que a Companhia Brasileira de Alu-
mnio (CBA) pretende instalar na calha do Rio
Ribeira de Iguape, entre os municpios de Ribeira
(SP) e Adrianpolis (PR), altamente contestada
pela Rede. Foi projetada na dcada de 1980 e,
depois do processo ter fcado parado por fora de
uma ao judicial, os empreendedores entraram
com um novo pedido de licenciamento.
Tijuco Alto uma das quatro barragens
previstas para o rio. Se construdas, Tijuco Alto,
Funil, Itaoca e Batatal iro inundar uma rea de
cerca de 11 mil ha, incluindo parques nos estados
de So Paulo e Paran, parte de cidades e reas
de comunidades de remanescentes de quilombos.
Alm disso, o Ribeira de Iguape deixar de ser o
ltimo rio no barrado no Estado de So Paulo.
Diante de denncias sobre os problemas
ambientais e sociais que envolvem a carcinicul-
tura (criao de camaro marinho em cativeiro),
a Rede tambm se mobilizou. Levou o assunto
para o Conama, que aprovou uma proposta para a
realizao de seminrio nacional sobre o assunto.
Naquela poca, a atividade realizada em reas
de maguezais e outros ecossistemas costeiros
no dispunha de regras para o licenciamento am-
biental. At que, em outubro de 2002, a atividade
foi regulamentada. Agora, criadores que usarem
reas acima de 50 ha tero de realizar Estudo de
Impacto Ambiental.
Outra ameaa so os constantes ataques ao
Cdigo Florestal. A ltima grande tentativa foi
feita durante o governo FHC e mobilizou todo o
Manifestao pelo PL Mata Atlntica no Senado,
Braslia, 2003
movimento ambientalista. Os ruralistas queriam
maior fexibilidade para diminuir as reas de
Reserva Legal e de Preservao Permanente de
suas propriedades. No fnal de 1999, foi colocado
na pauta do Congresso o Projeto de Lei de Con-
verso de Medida Provisria 1885-42, elaborado
por deputados da bancada ruralista, para que fosse
permitida a derrubada de mata nessas reas.
Diante de ampla mobilizao nacional, in-
cluindo a da Rede, o projeto foi retirado de pauta
e a Cmara Tcnica Temporria do Conama fcou
RMA na
Reunio do
Conama, em
Campos do
Jordo, 2005
Mata Cap6.indd 190 2/23/06 11:34:43 PM
191
A
v
o
z
c
o
l
e
t
i
v
a
d
a
m
a
t
a
responsvel pela elaborao de outra proposta.
Essa foi construda a partir de processo dinmico e
participativo, envolvendo audincias pblicas em
18 estados brasileiros, sendo fnalmente aprovada
em plenria do Conama, em 29 de maro de 2000,
e encaminhada ao Congresso, onde posteriormen-
te teve medida provisria editada que continua
em vigor.
A RMA integra a Campanha SOS Florestas,
que mantm vigilncia constante s tentativas de
mudanas da legislao ambiental. Outro traba-
lho importante que a RMA vem desenvolvendo
o acompanhamento das discusses no Conama
sobre a proposta de Resoluo que regulamenta
as excees de interveno e supresso de vege-
tao em reas de preservao permanente para
minerao e outras atividades. Estas discusses
so extremamente importantes em se tratando de
Mata Atlntica.
Em setembro de 2004, a RMA entrou com
uma ao civil pblica em conjunto com a Federa-
o de Entidades Ecologistas Catarinenses contra
a fnalizao da construo da Usina Hidreltrica
de Barra Grande, na divisa de Santa Catarina e Rio
Grande do Sul. A usina construda no Rio Pelotas
uma obra de grande porte, realizada com base
num Estudo de Impacto Ambiental fraudado, que
omitiu a existncia de cerca de 6.000 hectares
de forestas de araucria, primrias e em estgio
avanado de regenerao. Alm disso, omitiu que
seria extinta da natureza uma espcie de bromlia
j ameaada de extino, a Dyckia distachya.
Apesar de toda a mobilizao, o poder econmico
falou mais alto e a usina, que conseguiu a licena
para operao em junho de 2005, inundou a fo-
resta e extinguiu a bromlia da natureza. Mesmo
com essa derrota para o meio ambiente, a Rede
considera que essa ao um cone de mobiliza-
o e um marco para os futuros licenciamentos,
ou seja, antes e depois de Barra Grande.
J a luta pela Mata Atlntica do Sul da Bahia
est tendo resultados mais positivos. Depois de
muitos debates, em fevereiro de 2003, o Conama
aprovou a Resoluo 240/98, que suspendeu a
explorao de madeira nativa em rea de Mata
Atlntica em todo o estado da Bahia. Em dezem-
bro de 2002, o transporte de madeira da Bahia foi
suspenso por ordem da justia federal. O Ibama
est impedido de emitir Autorizaes de Transpor-
te de Produto Florestal (ATPF). A deciso decorre
de processo judicial movido pela Rede e pelo
Gamb, com o apoio do Instituto Socioambiental,
contra o Ibama.
Outra ao muito importante est sendo
movida em Santa Catarina. Entre 1998 e 1999,
o Ibama de Santa Catarina, autorizou o corte
de mais de 230 mil metros cbicos de madeira,
correspondente a 59.455 rvores de araucria,
imbuia, angico, canela-preta, canela-sassafrs e
cabriva, todas elas na lista de espcies ameaadas
de extino, elaborada pelo prprio Ibama. Com
o apoio da RMA, o ISA props uma ao civil
pblica, em dezembro de 2000, que mantm em
vigor at hoje uma liminar proibindo a conces-
so de autorizao para planos de manejo para
a explorao de espcies ameaadas de extino
de toda a Mata Atlntica, no somente em Santa
Manifestao no
Encontro Nacional
da RMA, Campos
do Jordo, 2005
Mata Cap6.indd 191 2/23/06 11:35:00 PM
192
A
v
o
z
c
o
l
e
t
i
v
a
d
a
m
a
t
a
Catarina.
Carta de Tamandar
Tambm no mbito da fscalizao, a Rede
tem se esforado para conseguir avanos. Depois
de vrios anos tentando, fnalmente em julho de
2003, o Ibama, o Ministrio do Meio Ambiente e a
Rede frmaram uma agenda conjunta para proteger
o bioma. O acordo indito, frmado em Tamandar
(PE), uma proposta de atuao para prevenir e
combater crimes ambientais e ainda garantir a
participao e o controle da sociedade nas aes
do governo. a chamada Carta de Tamandar,
que contm 13 itens com compromissos das par-
tes, fxando aes e prazos para a realizao de
atividades voltadas fscalizao conjunta dos
remanescentes.
A contribuio do movimento ambientalista
tem sido fundamental para as mudanas, tanto da
opinio pblica quanto de setores governamentais,
os quais passaram a dedicar maior ateno para
a proteo da Mata Atlntica. Isso j se refetiu
na queda dos ndices de desmatamento na ltima
dcada do sculo XX. Mesmo assim, entre 1990 e
1995, mais de 500.000 ha de Mata Atlntica foram
destrudos para dar lugar expanso das cidades,
assentamentos de reforma agrria, pecuria, plan-
tio de pinus e eucaliptos e para fornecer lenha
para a secagem de fumo. Esse desmatamento
foi proporcionalmente trs vezes maior do que o
verifcado na Amaznia no mesmo perodo. Neste
incio do terceiro milnio, os ndices de desma-
tamento na Mata Atlntica esto em queda, mas
ainda persistem atividades madeireiras predat-
rias em alguns estados, principalmente na Bahia,
Paran e Santa Catarina. Por isso programas
de fscalizao e monitoramento que envolvem
diretamente a participao da sociedade so to
importantes.
Unidades de conservao
Outra frente importante de trabalho tem sido
o apoio criao de unidades de conservao.
Vrios parques e reservas foram defendidos pela
RMA. Eis os casos mais emblemticos.
Uma das aes mais marcantes foi o fecha-
mento da Estrada do Colono, no Parque Nacional
do Iguau (PR). O caminho havia sido reaberto
de forma ilegal por moradores de municpios
prximos ao parque. Os 18 quilmetros que
atravessam a unidade de conservao em sua rea
intangvel, permitiriam a circulao de veculos.
Dessa forma, a integridade dos 185 mil hectares
do parque, criado em 1939, estaria sendo afetada.
A estrada foi fechada no dia 14 de junho de 2001,
aps uma grande mobilizao da RMA e da Rede
Verde do Paran.
O Parque Nacional da Serra da Bodoquena
(MS) tambm foi institudo com a colaborao
da Rede. A RMA participou de audincia pblica,
recolheu assinaturas e participou de manifesta-
o em Campo Grande, durante o VI Encontro
Nacional da Mata Atlntica. A Rede ainda parti-
cipou da articulao para a criao dos parques
nacionais do Pau Brasil e do Descobrimento, no
Sul da Bahia.
Outra vitria foi a criao do Parque Na-
cional da Serra do Itaja em Santa Catarina, que
foi decretado em junho de 2004, mas efetivado
somente em maro de 2005, por conta de uma
deciso judicial que, em setembro de 2004, havia
suspendido os efeitos do decreto. Foi realizada
uma grande campanha atravs da Internet para
Semana
da Mata
Atlntica,
JoinvilleSC,
2002
Mata Cap6.indd 192 2/23/06 11:35:26 PM
193
A
v
o
z
c
o
l
e
t
i
v
a
d
a
m
a
t
a
que a deciso judicial fnalmente casse.
Em setembro de 2003, a RMA lana da
Campanha SOS Araucrias, reivindicando que
o governo federal acelerasse a implantao de
medidas visando proteger os ltimos fragmentos
da foresta com araucrias, um dos ecossistemas
mais ameaados da Mata Atlntica, com menos
de 3% de sua cobertura original.
Na Semana da Mata Atlntica em 2005, o
governo federal anunciou que criar oito novas
reas protegidas, voltadas conservao desta
foresta em Santa Catarina e no Paran. A Rede
participou ativamente de todas as etapas do pro-
cesso. Em outubro de 2005, duas delas j haviam
sido criadas em Santa Catarina: o Parque Nacional
das Araucrias e a Estao Ecolgica da Mata
Preta, faltando ainda uma APA em Santa Catarina
e mais cinco outras UCs no Paran.
Desde julho de 1999, a Rede tem um escritrio
em Braslia, que a partir de 2003 abriga tambm
a secretaria executiva.
A localizao do escritrio na Capital Federal
permite o acompanhamento das polticas da Mata
Atlntica e uma maior interlocuo com os diver-
sos ministrios, em especial o do meio ambiente,
o Banco Mundial, o Congresso Nacional e outras
organizaes. Tambm possibilita a obteno de
informaes e a articulao com instncias de
deciso do Pas.
A Secretaria Executiva tambm coordena e
executa as demandas determinadas pela Coor-
denao e as organizaes fliadas. A instncia
mxima da RMA a Assemblia Geral, que
rene as fliadas nas tomadas de deciso poltica
e institucional. A Rede conta com um Conselho
de Coordenao Nacional formado por repre-
sentantes de trs regies brasileiras. Cada uma
delas (Sul, Sudeste e Nordeste) tem trs titulares
e trs suplentes, seis em cada regio. Sua atuao
poltica descentralizada, sendo que cada estado
conta com uma instituio que serve de elo para
organizao de atividades locais e da Rede nos
estados. Ainda dispe de um conselho fscal que
avalia e chancela a contabilidade.
At 1997, a Rede contou apenas com o apoio
e trabalho voluntrios. Com os recursos do PPG7
(via PDA), o projeto de reforo institucional foi
viabilizado, permitindo que a RMA criasse uma
estrutura mnima. O projeto possibilitou as con-
dies tcnicas e institucionais para que a RMA
pudesse dar continuidade e ampliar suas ativida-
des e aes estratgicas de proteo e recuperao
do Bioma Mata Atlntica.
Plano estratgico
Hoje a RMA vem executando a parte II do
Projeto de Apoio Institucional, com recursos do
PPG7, atravs de um acordo com o Banco Mun-
dial iniciado em 2001. Atravs desse projeto est
Coordenao
da RMA eleita
em maio de
2005, em
Campos do
Jordo
Estrutura
Para participar de tantas instncias, a RMA
foi obrigada a se estruturar melhor. Durante os
seus cinco primeiros anos, o escritrio esteve se-
diado na Fundao SOS Mata Atlntica, em So
Paulo. Posteriormente foi transferido para a sede
do Grupo Ambientalista da Bahia (Gamb), de
1997 a 2001, e de l para a Associao Mineira
de Defesa do Ambiente (Amda), de 2001 a 2003.
Mata Cap6.indd 193 2/23/06 11:35:40 PM
194
A
v
o
z
c
o
l
e
t
i
v
a
d
a
m
a
t
a
sendo possvel implementar as aes previstas no
Plano Estratgico 2004-2007, cuja elaborao s
foi possvel com o apoio das instituies fliadas,
que discutiram seu papel, suas competncias,
desafos e fragilidades, assim como o cenrio de
polticas pblicas para a Mata Atlntica no Pas.
O planejamento estratgico aprovou tambm
um plano de captao de recursos onde esto
previstas vrias atividades com o objetivo de
diversifcar a entrada de recursos e, com isso, a
sustentabilidade da RMA.
Para garantir a participao das entidades
fliadas na implementao do plano estratgico,
foram constitudos trs grupos temticos (GTs)
sobre focos especfcos. Eles funcionam por meio
de listas de discusso eletrnica e realizao de
ofcinas de trabalho. Ainda orientam as aes
estratgicas e visitas a campo para verifcao da
implementao das aes.
Cada um desses grupos de trabalho tem
incumbncia de articular aes de articulao,
monitoramento de propostas, mobilizao local,
campanhas, captao e mobilizao de recursos,
marketing, entre outras.
Os GTs so espaos de proposio onde so
discutidas e formuladas anlises e propostas de
interveno em relao ao tema em debate. Os
GTs so formados por membros de organizaes
fliadas RMA, sendo que cada um conta com
pelo menos um coordenador.
Os focos e as metas dos GTs so:
1 - reas de Preservao Permanente (APPs)
e Reserva Legal (RL) Apia a formulao de
polticas e aes de agentes privados, para que
ampliem a conservao, a preservao e a recu-
perao dessas reas.
O GT de APPs e RL j realizou duas ofci-
nas elencando atividades prioritrias tais como a
realizao de um diagnstico junto s instituies
fliadas, para saber quais delas trabalham efeti-
vamente com o tema e como as experincias de-
senvolvidas podem ser transmitidas e difundidas
para todos. A edio de um material explicativo
contendo toda a legislao a respeito do tema tam-
bm ser objeto de trabalho do GT,como forma
de assegurar o trabalho de acompanhamento das
aes desenvolvidas pelas ONGs.
Na atuao para infuenciar polticas pbli-
cas ser priorizada a legislao ambiental, com
interfaces junto ao gerenciamento costeiro, ao
Estatuto das Cidades e Poltica Florestal. Alm
disso, importante a integrao com programas
j existentes, como os corredores ecolgicos, o
turismo ecolgico e rural, os assentamentos rurais,
a agricultura familiar e a restaurao forestal.
Aes diretas, como a divulgao de infor-
maes precisas sobre APPs e RL para os atores
sociais e polticos, o levantamento de projetos de
pequenas centrais hidreltricas que comprometam
a Mata Atlntica e a vinculao da concesso de
Coordenadores gerais da RMA, de 1992 a 2006: Joo Capobianco, Renato Cunha e Mriam Prochnow
Mata Cap6.indd 194 2/23/06 11:35:43 PM
195
A
v
o
z
c
o
l
e
t
i
v
a
d
a
m
a
t
a
fnanciamento e fomento dos setores pblico e
privado para as atividades produtivas em proprie-
dades rurais para a recuperao de APPs e RL,
tambm sero implementadas.
2 - Atividades Sustentveis e Consumo
Consciente Promove a disseminao e a va-
lorizao de iniciativas que gerem a produo
e o consumo consciente e sustentvel, como
agroecologia, manejo agroforestal, ecoturismo
e econegcios.
A importncia desse foco estratgico para
a proteo da Mata Atlntica est na percepo
de que, alm dos instrumentos clssicos de pro-
teo como as reas protegidas e a fscalizao
e controle da observao das leis ambientais, o
uso sustentvel dos recursos naturais, ou seja,
atividades sustentveis e o consumo consciente
- que procura evitar a compra de produtos que de
alguma forma podem estar prejudicando a Mata
Atlntica -, so instrumentos poderosos e pro-
positivos, que podem dar uma contribuio vital
para a proteo e recuperao da Mata Atlntica
nos prximos anos.
O objetivo estratgico promover a dissemi-
nao e a valorizao de iniciativas de produo
e consumo sustentveis como um dos pilares da
conservao da Mata Atlntica. Para verifcar se
esse objetivo realmente est sendo alcanado, a
RMA defniu indicadores, dos quais apresentamos
alguns exemplos:
Ampliao da certifcao socioambiental de
iniciativas e empreendimentos no bioma.
Ampliao da adoo de conceitos e prticas
da produo sustentvel nas regies prioritrias
para a conservao do bioma por parte de insti-
tuies pblicas e privadas.
Critrios para certifcaes forestal e agrcola no
bioma, elaborados e sendo aplicados em projetos
pblicos e privados.
Grupos organizados de consumidores que disse-
minam informaes sobre produtos sustentveis
e apontam produtos que prejudicam, em alguma
posio da cadeia produtiva, a Mata Atlntica.
Pblico-alvo ativamente envolvido em campa-
nhas de consumo consciente referente Mata
Atlntica.
As metas iniciais para os dois primeiros anos
so: formular as bases conceituais e polticas da
atuao da RMA no tema; e gerar e pactuar um
conjunto de critrios bsicos indicativos de ativi-
dades sustentveis na Mata Atlntica a partir de
experincias existentes.
3 - Unidades de Conservao Tem como objeti-
vo propor e acompanhar a criao e a implantao
de unidades de conservao, a fm de proteger
parcela representativa dos diversos ecossistemas
da Mata Atlntica, com a participao da comu-
nidade local e agentes gestores.
As aes prioritrias so:
Elaborar uma proposta de posicionamento fren-
te a questo das sobreposies de unidades de
conservao e terras indgenas.
Buscar junto ao governo federal a adoo de
mecanismos transparentes para a aplicao das
medidas compensatrias de obras de impacto.
Fazer a articulao necessria com os outros
setores da sociedade que trabalham com reas
protegidas.
Reunio da RMA Regio Nordeste , 2005
Mata Cap6.indd 195 2/23/06 11:35:57 PM
196
A
v
o
z
c
o
l
e
t
i
v
a
d
a
m
a
t
a
Criar canais de interlocuo interna para realizar
a disseminao das atividades exitosas realiza-
das pelas ONGs fliadas Rede.
Protagonizar campanhas em prol da criao e
da implementao de unidades de conservao
na Mata Atlntica.
A RMA tem muito trabalho pela frente em
busca de seus objetivos centrais: a conservao da
Mata Atlntica e uma melhor qualidade de vida
para a populao que mora nela. Os prximos
anos sero dedicados execuo de atividades
que visem aprovao, regulamentao e
implementao da Lei da Mata Atlntica. Alm
disso, a Rede est empenhada na captao de
recursos para projetos de proteo e recuperao
de reas, de uso sustentvel e consumo consciente
e, ainda, a criao e implementao de Unidades
de Conservao.
O horizonte descortina cada vez mais a valo-
rao ambiental, atravs de debates e iniciativas
de mercado e consumo sustentvel, economia
ecolgica e certifcao. Diante desse cenrio, a
RMA identifca um quadro de possibilidades que
Betsey Whitaker Neal, secretria executiva da
RMA at abril de 2005; Miriam Prochnow
pedagoga, especialista em Ecologia e coordena-
dora geral da RMA; e Silvia Franz Marcuzzo
jornalista e assessora de comunicao da
RMA.
requer atuao intensa, permanente e renovada, de
acompanhamento, monitoramento e interveno,
de modo a consolidar os avanos e criar novos
espaos e mecanismos capazes de impedir os
potenciais retrocessos.
Embora as condies para a construo e
consolidao de mecanismos de participao
nas polticas pblicas sejam bem melhores nos
ltimos tempos, o desafo da qualifcao desta
participao se revela estratgico para o futuro.
Afnal, a RMA trabalha na foresta onde moram
mais de 120 milhes de brasileiros.
RMA participando de consulta pblica para criao de unidades de conservao
Mata Cap6.indd 196 2/23/06 11:36:24 PM
197
O
q
u
e
a
i
n
d
a
a
m
e
a
a
O que ainda
ameaa
Mata Cap7.indd 197 2/23/06 11:46:06 PM
198
O
q
u
e
a
i
n
d
a
a
m
e
a
a
Explorao
irregular de
araucria,
Santa
Catarina,
2003
H
importantes lacunas para que a Mata
Atlntica, no mdio prazo, volte a ocu-
par pelo menos 30% a 35% de sua rea
original. Esse percentual, alm de ser um percen-
tual mundialmente reconhecido como ideal para
cada ecossistema ou bioma, est perfeitamente
em sintonia com o que j est previsto na le-
gislao federal, ou seja, pelo Cdigo Florestal
cada propriedade deve manter 20% de reserva
legal mais as reas de preservao permanente.
Some-se a isso, as unidades de conservao
previstas no Sistema Nacional de Unidades de
Conservao (SNUC) e que deveriam abranger
entre 10% e 12% da rea do bioma, percentual
mundialmente aceito.
O baixo percentual de reas protegidas em
forma de unidades de conservao hoje uma das
principais lacunas. Apenas aproximadamente 3%
da rea original do bioma est protegido em uni-
dades de conservao. Para agravar o problema,
estes 3% no esto uniformemente distribudos
entre as diversas formaes forestais e ecossiste-
mas associados, fato que torna ainda mais urgente
as medidas para criao e implantao de novas
unidades de conservao.
Outra lacuna decorre do descumprimento
do Cdigo Florestal (Lei 4771/65) no que diz
respeito manuteno dos 20% de reserva legal
em cada propriedade e das reas de preservao
permanente. Nesse caso ser necessrio envolver
os setores agrcolas e forestais e o empenho de
todas as instncias de governo (federal, estadual
e municipal), organizaes da sociedade civil e
ministrios pblicos, num mutiro nacional pela
recuperao das APPs e reservas legais.
H ainda lacunas no que concerne capaci-
dade operacional de instncias responsveis pela
proteo e fscalizao da Mata Atlntica, bem
como interpretaes diferenciadas da legislao
sobre licenciamento, fscalizao e controle, fatos
que contribuem para a ocorrncia de desmatamen-
tos e explorao ilegal de espcies ameaadas
de extino e at na concesso de autorizaes
indevidas para supresso de remanescentes de
Mata Atlntica.
Essas brechas so o espao perfeito para
que atividades econmicas continuem a ser
ameaas ao bioma, como os assentamentos rurais,
a carcinicultura, a especulao imobiliria, a ex-
plorao madeireira, a fumicultura e agricultura
insustentvel, o manejo de espcies ameaadas, a
minerao, o plantio de exticas, as sobreposies
de unidades de conservao e territrios de popu-
laes tradicionais e o trfco de animais.
O fortalecimento e consolidao das instn-
cias governamentais e no-governamentais que
atuam na defesa, conservao e recuperao da
Mata Atlntica, juntamente com o aumento da
conscientizao e vigilncia de toda a sociedade,
so caminhos para preservar o que resta e recu-
perar a Mata Atlntica.
Mata Cap7.indd 198 2/23/06 11:46:32 PM
199
O
q
u
e
a
i
n
d
a
a
m
e
a
a
Especulao Imobiliria
A especulao imobiliria no Domnio da
Mata Atlntica constitui-se de diferentes vetores
de presso antrpica sobre reas naturais, da
construo de loteamentos de alto luxo em reas
de beleza natural reconhecida, passando pela
ocupao de reas lindeiras, vrzeas e morros pela
populao de baixa renda em geral empregada
na construo dos novos empreendimentos ou nos
negcios por eles fomentados -, at a expanso
urbana sobre reas de preservao e de manan-
ciais, cercados pelas ocupaes clandestinas que
levam ao processo de favelizao nas periferias
das grandes cidades.
Regies onde a cobertura forestal se man-
teve preservada, trechos da zona costeira, reas
naturais de grande beleza cnica, terras de popu-
laes tradicionais como caiaras, quilombolas
ou comunidades extrativistas costumam ser os
alvos mais freqentes da especulao imobiliria
representada por grandes incorporadoras, que
vem a oportunidades de negcio. Alm do perfl
ambiental, so causas da especulao imobiliria:
a fxao de indstrias e empresas de grande porte;
o potencial de emprego trazido pelo crescimento
do turismo, em geral desordenado; e a abertura
de estradas que infuenciam na desfgurao da
paisagem regional, entre outros aspectos.
A ameaa sobre a Mata Atlntica direta,
principalmente quando as formas de ocupao do
solo e a implantao de novas residncias no le-
vam em conta o gerenciamento de reas de risco, o
tratamento de esgoto, a destinao fnal do lixo ou
mesmo o respeito identidade cultural local e a ne-
cessidade de preservao dos recursos naturais.
Com a balneabilidade das praias cada vez
mais comprometidas pela descarga de esgoto in
natura, as cidades costeiras com vocao para o
turismo so um exemplo acabado dos impactos
provocados pelo mercado imobilirio. A constru-
o de casas de veraneio, por parte da sociedade
que sonha com a segunda residncia em um local
privilegiado, acarreta no histrico processo de
expanso urbana sem condies sociais adequa-
das. A maioria desses loteamentos ocupa reas de
restinga, mangues, costes ou trechos cobertos
por mata nativa. Alm do impacto direto sobre a
natureza, a mo-de-obra contratada para a cons-
truo acaba se concentrando ao longo de riachos
e morros no entorno dos loteamentos, dentro de
reas de preservao permanente ou at mesmo
em unidades de conservao, como no Parque
Estadual da Serra do Mar, sem qualquer servio
de infra-estrutura.
O crescimento desordenado trazido pelo tu-
rismo pode ser observado em nmeros do Litoral
Norte de So Paulo: ali, a populao fxa que de
cerca de 180 mil habitantes, cresce para mais de
um milho de turistas nas pocas de temporada,
entre janeiro e fevereiro.
Loteamento
irregular
na Regio
Metropolitana
de So Paulo
Mata Cap7.indd 199 2/23/06 11:46:34 PM
200
O
q
u
e
a
i
n
d
a
a
m
e
a
a
O problema na prtica
Loteamento de luxo
Pela BR-101, entre Bertioga e So Se-
bastio, em So Paulo, o loteamento Riviera
de So Loureno um caso representativo do
processo de ocupao imobiliria impondo-se
sobre os recursos naturais. O empreendimen-
to foi construdo na dcada de 1980 sobre
uma das principais reas ainda intocadas
de restinga no Estado de So Paulo. Mesmo
investindo em cuidados antes ignorados por
outros empreendimentos desse tipo, como
saneamento bsico, o condomnio de classe
mdia alta, causou um grande desmatamento
para abertura de vias, construo de casas,
prdios e shopping center.
A expanso do Riviera de So Loureno
para o dobro da rea original construda foi
autorizada pelo Ibama na dcada de 1990,
fazendo crescer ainda mais as ameaas so-
bre os ecossistemas de restinga e a fauna
e a fora locais. A presso das organizaes
da sociedade civil contra o loteamento,
principalmente da ONG Coletiva Alternativa
Verde (Cave), cresceu e o caso chegou ao
Ministrio Pblico na forma de uma Ao Civil
Pblica que previa o cancelamento parcial do
registro do loteador.
Aps anos de mobilizao, o Superior
Tribunal de Justia concedeu liminar para
determinar o embargo judicial de toda obra,
servio ou atividade de alterao, modifca-
o ou supresso dos recursos naturais nes-
sa rea sob pena de multa diria de dez mil
reais. O empreendedor entrou com recurso
pedindo a suspenso da liminar, alegando
a inexistncia de leis que inibam o uso da
propriedade privada. Em 2004, o empreen-
dedor venceu a ao e conseguiu regularizar
a instalao da obra na rea de restinga.
Construo irregular em Itapema SC
F
o
t
o
:
N
e
l
s
o
n
W
e
n
d
e
l
Mata Cap7.indd 200 2/23/06 11:46:48 PM
201
O
q
u
e
a
i
n
d
a
a
m
e
a
a
Manejo de espcies
ameaadas*
lugar corrente na inteligncia
nacional que nenhum pas pode prescin-
dir dos recursos oriundos das forestas
para seu desenvolvimento econmico e
social. A mesma inteligncia diz que a
explorao predatria e exagerada dos
recursos naturais gera desequilbrios de
toda ordem. No obstante, nos ltimos
cem anos, com o advento da industria-
lizao e da expanso populacional
desmedida, a abusiva explorao dos
recursos forestais na Mata Atlntica atinge con-
tornos catastrfcos. quando praticamente toda
a extenso da foresta j mostra sinais de extremo
comprometimento que surge o recurso retrico do
manejo forestal sustentvel.
O chamado manejo forestal sustentado com
freqncia incorpora na sua prpria defnio
tcnica a lgica produtivista do capital, estabe-
lecendo-se portanto, numa base eminentemente
utilitarista e humana. A foresta to somente
o cenrio, onde se desenrola uma seqncia de
atos associados explotao cclica dos juros
forestais, pretensa manuteno do estoque e
retirada peridica do incremento. De cenrio, a
foresta passa a ser reduzida a almoxarifado.
A abstrao chega a atingir nveis de insani-
dade, a ponto de ainda persistirem defensores da
explorao madeireira nos remanescentes fores-
tais naturais, usando o argumento de que somente
com a interveno humana essas forestas tero
futuro, j que elas no conseguem sobreviver sem
o homem, que lembram bem, tambm faz parte
da natureza.
Ainda que tenhamos uma sociedade que j
administra um considervel prejuzo decorrente
dos efeitos da degradao forestal, a tese do ma-
nejo dos recursos madeireiros em remanescentes
naturais, como condio para o desenvolvimento
econmico e social, ainda a regra. Mesmo esp-
cies ameaadas de extino no so poupadas. Ao
contrrio, parece haver uma predileo toda espe-
cial por elas e, com a falta de criatividade reinante,
ressurge o argumento de que sem a possibilidade
de explorao essas espcies desaparecero.
Muitas delas, na prtica, j desapareceram. Para
ilustrar transcrevemos na ntegra um trecho dessa
tese apresentada no Seminrio sobre o Manejo
Sustentvel da Araucria e do Xaxim, da Comis-
so de Turismo e Meio Ambiente da Assemblia
Legislativa do Estado de Santa Catarina, em 11
de setembro de 2005:
No justo penalizar aqueles que
preservaram ou compraram reas com
araucrias, xaxim e outras espcies
forestais, proibindo-os de EXPLOTAR
parte desses recursos, para sua prpria
sobrevivncia. S atravs dos MANE-
JOS dos recursos naturais renovveis,
de reas nativas remanescentes que
poderemos encontrar a PAZ e o equi-
lbrio socioeconmico no campo. Ao
contrrio permanecendo a proibio
atravs de LEIS ou LIMINARES, au-
mentaremos ainda mais os bolses de
POBREZA e desarmonia social.
Plano de manejo irregular, em Ponte
Serrada SC, 2003
Mata Cap7.indd 201 2/23/06 11:47:05 PM
202
O
q
u
e
a
i
n
d
a
a
m
e
a
a
O esgotamento dos recursos forestais da
Mata Atlntica favoreceu a introduo de culti-
vos forestais homogneos de espcies exticas.
Nessas florestas plantadas muito se investiu,
tanto em pesquisa quanto em incentivos para
implantao. Nelas se assentava uma prodigiosa
e prspera indstria. Por isso, mesmo depois de
abrir todo o espao possvel na Mata Atlntica,
o saber nacional se voltou para o aprimoramento
do manejo de forestas homogneas exticas, a
anttese da profuso de biodiversidade da foresta
original. No bastasse, os escassos remanescentes
naturais atuais da Mata Atlntica so ainda objeto
da cobia, sustentada por discursos que mesclam
demagogia barata com tecnocracia arrogante.
As tcnicas de manejo, desenvolvidas ao
extremo nos plantios homogneos, so tambm
facilmente transportadas para um irresponsvel
e inconseqente discurso de sustentabilidade na
explorao madeireira de espcies desconhe-
cidas, agonizando em remanescentes naturais
diminutos e isolados. A inexistncia de uma base
tcnico-cientfca mnima para a sustentabilida-
de do manejo forestal na Mata Atlntica hoje
formalmente reconhecida. Pelo menos para a
explorao de espcies ameaadas de extino,
coincidentemente aquelas mais manejadas, existe
uma deciso liminar do Poder Judicirio e uma
Resoluo do Conama (278/01), que condicionam
liberao do manejo a apresentao da referida
base tcnico-cientfca. No h e tampouco pode-
ramos imaginar que esse embasamento surgisse
assim repentinamente. Em termos comparativos,
as pesquisas com eucaliptos no Brasil se estendem
por quase um sculo, recebendo aportes e incen-
tivos os mais diversos, ao passo que ainda no
sabemos, por exemplo, quem poliniza a canela-
preta, ou ainda quais os dispersores das sementes
do sassafrs, o incremento mdio anual da imbuia.
Poderamos nos estender por uma centena de
questionamentos, todos sem respostas. No ilusio-
nismo do manejo forestal dos remanescentes da
Mata Atlntica, manipula-se o desconhecido.
Desmatamento irregular de foresta com araucria SC, 2005
Mata Cap7.indd 202 2/23/06 11:47:16 PM
203
O
q
u
e
a
i
n
d
a
a
m
e
a
a
O Estado comprometido e conivente,
afinal ele uma criao humana, essa que
a mais prejudicial das espcies invasoras da
Mata Atlntica, perambula na letargia de uma
burocracia repleta de boas intenes. O Estado,
mais do que o homem, no enxerga a floresta,
Madeira
ilegal de
araucria,
em
Bituruna
PR, 1995
Explorao
de
araucria
em Turvo
PR, 1995
alis, sequer v a rvore, apenas percebe a
madeira. Mais assustador ainda presenciar a
presso para a supresso dos espaos da Mata
Atlntica para abrir caminho para a moderni-
dade, traduzida pelos plantios de soja, pnus
ou eucaliptos.
Mata Cap7.indd 203 2/23/06 11:47:48 PM
O problema na prtica
204
O
q
u
e
a
i
n
d
a
a
m
e
a
a
O problema na prtica
Perda da variabilidade
gentica da araucria
Segundo levantamento realizado pelo
Grupo Pau Campeche, entidade ambienta-
lista de Santa Catarina, o Ibama autorizou
somente neste Estado, entre 1997 e 1999, 86
planos de manejo e 63 requisies de corte
seletivo da araucria, totalizando um volume
de 233.402 m
3
de madeira, ou quase 60 mil
pinheiros cortados, em trs anos. Na prtica,
esse valor corresponde a apenas um tero
do desmatamento, pois o setor marcado
pela informalidade. comum os planos de
manejo cortarem mais do que o autorizado,
devido falta de fscalizao. Alm disso, a
anlise qualitativa dos planos de manejo so
tecnicamente frgeis, pois no inserem nada
referente proteo da espcie, apenas limi-
tam a 40% o volume a ser explorado.
Outro trabalho realizado pela Universi-
dade Federal de Santa Catarina, comparando
os remanescentes primrios de foresta com
araucria com as reas exploradas, mostrou
uma perda de mais de 50% na variabilidade
gentica dessas ltimas.
O manejo forestal na Mata Atlntica procura
fechar um ciclo de destruio, consciente, cal-
culado, porm desastroso. Repetimos a histria;
aquela de explorao e destruio. Destruir fo-
restas no desumano, essencialmente humano.
As perspectivas positivas na Mata Atlntica so
escassas. preciso refetir sobre a situao, bus-
cando proteger essa foresta do homem. Ele que
nunca teve a menor habilidade com a foresta,
no mostra tambm maior sensibilidade com
os remanescentes da Mata Atlntica. No existe
educao, cincia, manejo ou tecnologia capaz de
salvar a Mata Atlntica, enquanto mantivermos
essa equivocada e arrogante percepo de desen-
volvimento como sinnimo de ocupao, uso e
abuso. Para o pouco que sobrou da Mata Atlntica
precisamos ainda aprender a enxerg-la.
Explorao
ilegal ameaa
variabilidade
gentica das
espcies
*Joo de Deus Medeiros botnico do Depar-
tamento de Botnica (CCB-UFSC) e do Grupo
Pau-Campeche
Mata Cap7.indd 204 2/23/06 11:48:00 PM
205
O
q
u
e
a
i
n
d
a
a
m
e
a
a
Explorao madeireira*
A explorao das forestas do sul e extremo
sul da Bahia remonta ao incio da colonizao do
Brasil. Entretanto, durante os primeiros quatro
sculos e meio, os impactos ambientais causados
foram de menor amplitude se comparados com a
devastao dos ltimos 30 anos. Desde a abertu-
ra da BR-101, na dcada de 1970, e de rodovias
estaduais, como a BA-001, as madeireiras vm
avanando sobre as forestas da regio, deixando
para trs um rastro de destruio ambiental. Se
por um lado no podem ser consideradas as ni-
cas responsveis pela degradao que enfrenta a
regio, no h dvidas que so a base e o princpio
de um processo que coloca em situao crtica um
dos ecossistemas mais ricos em biodiversidade e
endemismo do mundo.
Desde a publicao do Decreto 750/93, que
dispe sobre a proteo e o uso sustentvel da
Mata Atlntica, diversas instituies pblicas e
da sociedade civil vm externando suas preocu-
paes quanto explorao da Mata Atlntica
na Bahia, em especial quanto sustentabilidade
dos Planos de Manejo Florestal de Rendimento
Sustentvel (PMFS).
A foresta ombrfla densa e algumas reas de
transio para a foresta estacional semi-decidual
no sul da Bahia continuam sendo objeto de devas-
tao paulatina, em intensidade varivel conforme
a demanda de madeira nativa, a capacidade de
fscalizao dos rgos pblicos, a correlao de
foras polticas e a conjuntura socioeconmica
regional, dentre outros fatores.
Em abril de 1998, aps intenso debate entre
a sociedade civil, atravs da Rede de ONGs da
Mata Atlntica, governo da Bahia, Ibama e MMA,
o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Cona-
ma) aprovou a Resoluo 240/98, que suspendeu
a explorao madeireira at a apresentao de
estudos comprovando a sustentabilidade dessa
atividade. Esses estudos jamais foram realizados
de forma a atender o que foi preconizado. Com a
intensa presso dos madeireiros sobre os governos
estadual e federal, as exigncias foram fexibi-
lizadas, gerando a Resoluo Conama 248/99,
Desmatamento ainda ameaa a Mata Atlntica
Mata Cap7.indd 205 2/23/06 11:48:15 PM
206
O
q
u
e
a
i
n
d
a
a
m
e
a
a
que determinou, entre outros, estudos sobre o
estoque das espcies comerciais e o mapeamento
atualizado dos remanescentes, assim como esta-
beleceu uma srie de exigncias para o caso de
novas autorizaes. Para todos, estava em jogo a
maneira como as serrarias exploravam as fores-
tas no sul e extremo sul da Bahia, sem nenhum
planejamento ou critrio, sem fscalizao sria,
ao sabor da conivncia de agentes pblicos, com
presso e violncia por parte de membros do se-
tor madeireiro, o que provocava um certo risco
de vida pela ausncia de segurana, ao mesmo
tempo em que eliminavam qualquer possibilidade
de sustentabilidade da atividade.
Uma boa ilustrao da situao da atividade
na regio foi dada pela auditoria reivindicada
pela sociedade civil e realizada pelo Ibama, com
a participao de certa forma limitada de represen-
tantes da RMA. Foram identifcados 315 planos de
manejo em operao, em 1997, dos quais apenas
32 foram considerados aptos a continuar sendo
explorados. Durante esse perodo, a explorao
clandestina no parou, embora tenha reduzido
durante as vrias fscalizaes da denominada
Operao Descobrimento. Na contabilidade dessa
operao, o setor madeireiro se confgurou como
o principal descumpridor da legislao ambiental.
As serrarias existentes funcionavam ilegalmente,
todas sem licenas ambientais e operando com
espcies nativas de origem ilegal.
As ATPFs
No fnal de abril de 2000, o ento ministro do
Meio Ambiente, Jos Sarney Filho, que por vrias
vezes havia manifestado sua discordncia dessa
explorao predatria, resolveu suspender os pla-
nos de manejo situados no entorno das unidades
de conservao, em especial do Parque Monte
Pascoal e dos recm-criados parques nacionais
do Pau Brasil e do Descobrimento.
Mesmo com a atividade madeireira formal-
mente suspensa, as denncias de desmatamento
continuaram sistemticas. Em 2002, comearam
a aparecer provas concretas de que a emisso das
Autorizaes de Transporte de Produtos Florestais
(ATPFs) pelo Ibama eram feitas de forma fraudu-
lenta, esquentando madeiras oriundas de desma-
tamentos ilegais. Os caminhes circulavam nas
estradas carregados de toras de espcies da Mata
Atlntica, com ATPFs, passando pelos postos de
fscalizao, com conivncia dos fscais do Ibama,
da Polcia Rodoviria e da Secretaria da Fazenda
do Estado da Bahia. Vrios endereos de origem
e destino lanados nos documentos eram inexis-
Corte ilegal
de cedro
Mata Cap7.indd 206 2/23/06 11:48:28 PM
207
O
q
u
e
a
i
n
d
a
a
m
e
a
a
tentes, o que comprovava mais ainda o esquema
de esquentamento, com serrarias e madeireiras
fantasmas. No escritrio do Gamb, comearam
a chegar, na poca, vrias cpias de ATPFs envia-
das por pessoas annimas que tinham acesso s
informaes e estavam indignadas com tal crime
natureza que estava sendo cometido.
A RMA e o Gamb, com apoio do Instituto
Socioambiental (ISA), resolveram, ento, ingres-
sar com uma ao judicial visando suspenso da
emisso das ATPFs. A Justia Federal concedeu
liminar favorvel em dezembro de 2002, que
continua vlida at hoje.
Assim, toda e qualquer explorao e transpor-
te de madeira nativa da Mata Atlntica da Bahia
ilegal e deve ser denunciada pela sociedade e
combatida pelos rgos de fscalizao.
A partir de 2003, com a mudana dos ges-
tores do Ibama na Bahia, que demonstraram
compromisso para enfrentar essa realidade, a
ao do rgo foi fortalecida, mesmo ainda com
srias difculdades operacionais, dado o tamanho
do problema. Aes mais concretas de fscaliza-
o foram implementadas, conseguindo algumas
vezes evitar desmatamentos, mas na maioria das
vezes chegando ao local com a mata no cho.
Com a mudana institucional e com o reforo
das aes de controle, vrios madeireiros muda-
ram da regio devido s restries impostas para
a continuidade da atividade, indo se estabelecer
em outras regies onde a explorao madeireira
intensa, como no Mato Grosso. Os que fcaram
foram descobrindo algumas formas de burlar a
fscalizao. Um exemplo executar o desdobra-
mento de toros e fazer os pranches na prpria
foresta, difcultando o controle e a ao dos
rgos de fscalizao.
Atravs do Projeto Corredores Ecolgicos do
PPG7 foram realizadas aes integradas dos v-
rios rgos responsveis pela fscalizao (Ibama,
Semarh/CRA, Companhia de Polcia Ambiental,
Polcia Civil, Polcia Rodoviria, Ministrio P-
blico), contemplando atividades de capacitao,
integrao, anlise de procedimentos e operaes
de campo, resultando em aes bem mais efcazes
no controle do desmatamento.
A situao atual da Mata Atlntica na regio
ainda precisa de um melhor controle, de maior
conscincia dos proprietrios rurais detentores
de forestas e de polticas pblicas efcazes para a
proteo da foresta. A criao de novas unidades
de conservao de proteo integral, a melhoria da
gesto das atuais UCs, tanto dos parques nacionais
como das reas de Proteo Ambiental (APAs),
o incentivo criao de Reservas Particulares
do Patrimnio Natural (RPPNs), a viabilizao
do Projeto Corredores Ecolgicos com mais
agilidade, o controle de atividades que historica-
mente vm comprometendo a proteo do bioma,
como a expanso da monocultura de eucalipto e
da pecuria extensiva de baixa produtividade,
so medidas necessrias e urgentes para serem
implementadas na regio.
*Renato Cunha coordenador executivo do
Grupo Ambientalista da Bahia (Gamb) e membro
da coordenao da RMA
Desmatamento
para agricultura
Mata Cap7.indd 207 2/23/06 11:48:46 PM
208
O
q
u
e
a
i
n
d
a
a
m
e
a
a
O problema na prtica
Voc tem pratos
de madeira em casa?*
Quase todos ns temos: pratos, tigelas,
tbuas de carne, talheres, gamelas, piles
ou potes de mel. A cor, o desenho e o brilho
da madeira so uns luxos. O que a maioria
ignora, porm, que esta beleza sustenta
um trfco de mais de 30.000 metros cbicos
anuais de madeiras raras da Mata Atlntica,
s no extremo sul da Bahia.
Essa regio, entre Porto Seguro, Prado
e Itamaraju, no apenas famosa por ser
o local do descobrimento do Brasil pelos
portugueses. Tambm abriga os maiores
remanescentes de foresta atlntica do Nor-
deste, considerada a mais rica e ameaada
do Planeta.
O impacto do trfco est concentra-
do nos remanescentes mais preservados
dessa floresta, abrindo novas frentes de
devastao. Procuram-se especifcamente
as rvores de grande porte mais valiosas,
muitas ameaadas de extino, ou seja: es-
to virando utenslios domsticos os ltimos
exemplares de jacarand, pau-brasil nativo,
paraju, arruda, mussuta-
ba, arapati etc., aptos a
produzir sementes para
eventuais futuros plantios
comerciais, com fantstico
potencial econmico.
No se trata aqui de
artesanato, mas sim de
uma indstria, envolven-
do centenas de fbricas clandestinas, em
quintais de periferias pobres. Tampouco
exclusivamente indgena. Os Patax so
apenas responsveis por 11,6% da produo,
apesar de ter seu nome amplamente usado
para driblar a fiscalizao. Gera subem-
prego, sem proteo fsica, nem legal. Um
objeto vendido a R$ 40,00 em So Paulo foi
comprado por cerca de R$ 1,00 do produtor,
num regime de total dependncia, parecendo
quase escravido.
Os rgos competentes tm de se
mobilizar para combater essa desgraa.
Urgentemente. E mais do que tudo, VOC
pode fazer a diferena. Se tiver algum desses
objetos em casa; se comprou algum nesse
vero, agora sabe o quanto realmente custou.
Pode decidir nesse instante e para sempre
que, se no for muito bem comprovada a
origem ambientalmente e socialmente correta
do objeto, por certifcado ou selo verde, NO
COMPRE, nunca mais.
* Jean-Franois Timmers, da Associao
Flora Brasil
Transporte de madeira
ilegal
Mata Cap7.indd 208 2/23/06 11:49:02 PM
209
O
q
u
e
a
i
n
d
a
a
m
e
a
a
Assentamentos rurais
O Decreto Federal 750/93, principal legisla-
o relativa Mata Atlntica e aos usos previstos
para o bioma, probe o desmatamento de reas de
foresta primria e secundria nos estgios mdio
e avanado de regenerao para fns de reforma
agrria. Mas a instalao de assentamentos rurais
tem como uma de suas bases um equvoco con-
ceitual, qual seja, o de que propriedades cobertas
por forestas nativas so improdutivas. Com isso,
a grande maioria dos projetos de reforma agrria
at agora realizados em reas cobertas com fo-
restas, em vrios estados brasileiros, acabaram
em desmatamento e destruio.
O desmatamento dos remanescentes flo-
restais comea mesmo antes da implantao do
assentamento. Em muitos casos, o proprietrio
desapropriado autorizado a retirar todo o estoque
de madeira antes de entregar a rea s famlias
benefciadas. Outras vezes, os prprios assentados
fazem da explorao e comrcio de madeira um
meio de obter recursos fnanceiros imediatos, mes-
mo que temporrios. De uma forma ou de outra,
milhares de hectares de forestas foram destrudos
num ritmo acelerado nesse processo.
Assentamento rural em Abelardo Luz, Santa Catarina
Mata Cap7.indd 209 2/23/06 11:49:42 PM
210
O
q
u
e
a
i
n
d
a
a
m
e
a
a
O problema na prtica
Assentamento em Quedas
do Iguau, no Paran
Desmatamentos
em Santa Catarina
e Paran
A partir de meados da dcada de 1980,
inmeros assentamentos rurais foram im-
plantados em Santa Catarina, predominan-
temente no planalto, meio-oeste e oeste do
Estado, rea de ocorrncia da Floresta com
Araucria. Desmatamentos praticados em
assentamentos de trabalhadores rurais so
notcia freqente nos jornais e foram consta-
tados ofcialmente por uma equipe integrada
pela Federao de Entidades Ecologistas
Catarinenses (FEEC), Apremavi, Ministrio
do Meio Ambiente e Ibama, durante levan-
tamento sobre a situao das forestas no
Estado, em abril de 2001.
Em maio de 1998, o Jornal de Santa Ca-
tarina publicou matria informando que, at
aquele ano, existiam no Estado um total de 96
assentamentos ocupando uma rea estimada
em 70.000 hectares. Somente no municpio
de Abelardo Luz existem 17 assentamentos,
conforme revela um relatrio do Movimento
dos Sem Terra (MST) de 1997, a maioria
deles implantados em reas cobertas por
Floresta com Araucria. Entre 1990 e 1995,
Abelardo Luz foi o municpio
campeo em desmatamen-
tos no Estado, de acordo com
o Atlas dos Remanescentes
Florestais e Ecossistemas
Associados no Domnio da
Mata Atlntica (1998), tendo
sido desmatado um total de
4.500 hectares.
Outro exemplo conhecido do problema
em rea de Mata Atlntica foi a desapropria-
o para reforma agrria, no municpio de
Quedas do Iguau, no Paran, entre 1997
e 1998, de 26.252 hectares cobertos com
vegetao primria e em estgio avanado
de regenerao de Mata Atlntica, perten-
centes empresa Araupel, os quais foram
totalmente desmatados.
Uma vistoria realizada no local em no-
vembro de 2000, pelo Ministrio do Meio Am-
biente em conjunto com a Rede de ONGs da
Mata Atlntica, constatou que foram implanta-
dos na rea dois assentamentos para reforma
agrria e que toda a rea encontrava-se
desmatada, sendo que em vrios locais nem
mesmo as reas de preservao permanente
(matas ciliares) foram respeitadas. Foram
vistos ainda vrios desmatamentos recen-
tes, com posterior queimada, para limpeza
das reas. Uma pesquisa que estava sendo
realizada com uma populao de queixadas e
catetos na regio foi inviabilizada, pelo desa-
parecimento completo desses animais. Alm
dessas espcies, vrias outras continuaram
a ser caadas na regio.
Mata Cap7.indd 210 2/23/06 11:50:04 PM
211
O
q
u
e
a
i
n
d
a
a
m
e
a
a
Fumicultura e agricultura
insustentvel
Com a expanso do parque industrial e o
incremento da produo e exportao agrcola no
Pas, a fumicultura teve um aumento signifcativo
na regio Sul a partir da dcada de 70. Hoje res-
ponsvel pela produo de 850 mil toneladas de
tabaco por ano - o que d ao Brasil o triste ttulo
de primeiro exportador mundial de fumo o Pas
convive com os diferentes danos causados por
esse tipo de agricultura insustentvel, tanto para
os agricultores quanto para o ambiente da Mata
Atlntica, onde a cultura do fumo se localiza.
Embora desenvolvida por mais de 150 mil
famlias em cerca de 650 municpios do Sul (50%
no Rio Grande do Sul, 35% em Santa Catarina e
15% no Paran), alm de 50 mil famlias fumicul-
toras em estados como Bahia e Alagoas, a cultura
do fumo guarda relaes perversas entre pequenos
produtores, indstria e consumidores. Primeiro,
pelo chamado sistema integrado de produo, as
indstrias garantem a compra integral da produo
por preos negociados com representantes dos
agricultores, devendo se responsabilizar tambm
pela assistncia tcnica, fnanceira e transporte da
produo at as usinas de benefciamento. Mas
ainda que o processo produtivo, da entrega das
sementes seleo das folhas, seja controlado
pelas empresas, o contrato com as famlias no
inclui a responsabilidade pelos danos ambientais
da atividade.
A destruio gerada pelo cultivo passa pelo
uso do brometo de metila, agrotxico consumido
em larga escala no controle de ervas daninhas,
doenas e pragas nos canteiros de fumo. A conta-
minao ambiental se d pela degradao do solo,
dos recursos hdricos e da prpria camada de oz-
nio, pois o brometo de metila possui capacidade
50 vezes maior de destruir molculas de oznio
do que um tomo de cloro. J a contaminao
da gua ocorre por lixiviao quando a chuva
carrega camadas superfciais do solo, atingidas
por produtos qumicos, para dentro dos rios ou
pelo transporte dos agrotxicos para dentro da
terra, onde fcam acumulados nas guas subterr-
neas. Por fm, a fertilidade do solo mantida pela
aplicao excessiva de insumos agrcolas, o que
acarreta em eroso e perda do equilbrio natural
entre foresta e fertilidade.
Secagem
da folha
de fumo
ainda
utiliza
lenha
nativa
Mata Cap7.indd 211 2/23/06 11:50:07 PM
212
O
q
u
e
a
i
n
d
a
a
m
e
a
a
De outro lado, a fumicultura surge como
principal causadora do desmatamento da Mata
Atlntica em estados como Santa Catarina. As
estufas de fumo carecem de madeira para o aque-
cimento e secagem das folhas da planta e, embora
grandes empresas e fumilcutores tenham frmado
Termo de Ajustamento de Conduta que probe o
uso de lenha de madeira nativa nas estufas, grande
parte dos agricultores ainda remove rvores na-
tivas para esse fm. A lenha tem participao de
7,6% no custo de produo do fumo e, segundo
dados da Organizao Mundial de Sade, para
cada 300 cigarros acesos, uma rvore derruba-
da. Empresas como a Souza Cruz, por exemplo,
respondem pela orientao ao plantio, colheita e
uso da estufa, mas no pelo combustvel que as
alimenta.
Pelo aspecto humano, a fumicultura relacio-
na-se a diversas doenas causadoras de morte at o
uso de mo-de-obra escrava imposto por algumas
indstrias do tabaco. Em 2000, fumicultores do
Paran denunciaram suposto esquema de explo-
rao do trabalho escravo no Estado, assim como
intoxicaes por defensivos qumicos usados sem
mscaras, luvas ou botas. O descuido no uso de
agrotxicos pode levar de irritaes na pele e nos
olhos, a problemas respiratrios, cncer, distr-
bios sexuais e at doenas no sistema nervoso
central e perifrico.
O combate ao tabagismo como tendncia
em campanhas de conscientizao com o Brasil
tendo assinado a Conveno Internacional para o
Controle do Tabaco, em 2003 remete ao debate
sobre a necessidade de erradicao da fumicultura
Desmatamento para plantio de soja SC, 2005
Mata Cap7.indd 212 2/23/06 11:50:20 PM
213
O
q
u
e
a
i
n
d
a
a
m
e
a
a
no Pas. Municpios e trabalhadores das regies
produtoras, no entanto, dependem da fumicultura
e da destruio que ela gera, devendo encontrar
alternativas agroecolgicas para a diminuio
progressiva desse tipo de lavoura.
Outras formas de agricultura insustentvel
esto relacionadas ao intenso grau de toxicidade
de alimentos que tm baixa resistncia a pragas.
Em 2002, pesquisas com o tomate revelaram um
ndice de contaminao por agrotxico de 26%,
com o mamo de at 37% e com o morango de
54%. As ocorrncias se devem em grande parte
ao uso de agrotxicos no permitidos, muitos
dos quais tm resduos que persistem ao longo
de toda a cadeia alimentar. Em culturas de to-
mate e pimento, por exemplo, ainda se usam
fungicidas perigosos como o Maneb, o Zineb e
o Dithane os dois primeiros podendo provocar
doena de Parkinson e o Dithane, mutao e m
formao do feto.
Por fm, agriculturas insustentveis esto
representadas pelos sistemas monocultores de
produtos como a soja e a cana, cujo plantio ex-
tensivo promove o desmatamento dos ltimos
remanescentes da Mata Atlntica (alm da soja
ser a monocultura de maior impacto sobre os
biomas Cerrado e Amaznia). Repetindo um mo-
delo de desenvolvimento obsoleto e predatrio, a
monocultura da soja ocupa mais de 43 milhes de
hectares no Pas, cresce cerca de 8% ao ano devido
intensifcao na utilizao de tecnologias de
plantio direto, e implica em impactos diretos sobre
o meio ambiente. Ao seguir um modelo de manejo
predatrio dos recursos naturais, o cultivo de gros
traz problemas para a qualidade da gua, assorea-
mento, processos erosivos e de perda do solo.
Pecuria
em rea de
preservao
permanente
BA, 2004
Mata Cap7.indd 213 2/23/06 11:50:33 PM
214
O
q
u
e
a
i
n
d
a
a
m
e
a
a
O problema na prtica
Lenha Nativa em
Santa Catarina
Segundo produtor nacional de fumo,
com mais de 30% da produo brasileira do
setor, o estado de Santa Catarina tem na
fumicultura o principal responsvel pelo des-
matamento de suas forestas nativas. Hoje,
a retirada de rvores nativas para produzir
calor nas estufas de fumo amplia a presso
sobre os remanescentes da maior parte dos
municpios do Estado, onde o setor fumageiro
tem expressiva importncia econmica.
Em 2003, um Termo de Ajustamento
de Conduta (TAC) determinou que os fumi-
cultores esto proibidos de utilizar lenha de
madeira nativa para a secagem das folhas de
fumo em suas estufas, sendo recomendado
o cultivo de rvores exticas como o pinus e
o eucalipto para esse fm. Alm disso, a res-
ponsabilidade da execuo do termo no
s do fumicultor mas tambm das fumageiras
e empresas de grande porte do ramo. Sabe-
se, porm, que grande parte dos produtores
ainda usa lenha nativa para aquecer suas
estufas, muitas vezes de forma camufada,
escondendo a madeira nativa debaixo de
uma pilha de eucalipto.
O uso questionvel de exticas pode ser
visto no cenrio de municpios como Atalanta,
Ituporanga, Vitor Meireles, Witmarsun, Dona
Emma, Presidente Getlio e Jos Boiteux,
onde uma vistoria realizada no fnal de 2004
revelou resultados alarmantes. Montes de
lenha nativa foram encontrados beira
das estradas ou ao lado das estufas, com
comprovada provenincia de fragmentos
vizinhos, alguns em reas de Preservao
Permanente (APPs).
Madeira nativa utilizada para queima
Mata Cap7.indd 214 2/23/06 11:50:35 PM
215
O
q
u
e
a
i
n
d
a
a
m
e
a
a
Grandes
empreendimentos
Empreendimentos de grande porte, sejam
eles econmicos, tursticos, industriais, imobi-
lirios ou de transporte representam sempre uma
alterao das propriedades originais do ambiente
onde so instalados. No caso de novas obras no
Domnio da Mata Atlntica, no h como im-
plant-las sem promover a ruptura dos processos
ecolgicos existentes e a desorganizao da vida
social e cultural das localidades prximas. Os
impactos ambientais resultantes dessas atividades
podem afetar direta ou indiretamente a sade, o
bem-estar da populao e a qualidade do meio
ambiente. A implantao de qualquer grande
empreendimento deve ser precedida, portanto,
de estudos de impacto ambiental que auxiliem
na preveno para a tomada de deciso sobre a
obra e no planejamento para o desenvolvimento
sustentvel.
As usinas hidreltricas so responsveis por
grande parte da perda de foresta nativa, pois com
o enchimento do lago para produo de energia,
inundam-se extensas reas cobertas por vegeta-
o. Aes para a implantao de hidreltricas
devem prever o desmatamento do local e o sal-
vamento de animais, em geral j ameaados pela
reduo de seu habitat. A obteno da licena para
a formao do lago das hidreltricas passa pela
obrigatoriedade de aes mitigatrias por parte
do empreendedor. Essas devem compensar os
prejuzos sociais, econmicos e ambientais, que
vo desde o impacto sobre os recursos pesqueiros,
o regime hidrolgico e a perda de espcies end-
micas, at a inundao de reas de comunidades
ribeirinhas.
Tambm caracterizadas como obras de gran-
de porte, as usinas nucleares costumam implicar
em graves riscos ambientais para as reas naturais
e para a populao vizinha ao empreendimento.
Alm das condies imprprias
para a instalao de usinas como
Angra I e II na zona costeira do
Domnio da Mata Atlntica, seja
pela difcil evacuao em caso de
acidente seja pela grande quanti-
dade de lixo nuclear que depende
de vigilncia por milhares de anos
e no conta com tcnicas de arma-
zenamento seguras, empreendi-
mentos desse tipo no levam em
conta a vocao de importantes
reas naturais e os incalculveis
custos das obras em relao
energia produzida.
Barragem
da UHE
de Barra
Grande
Torres da igreja,
remanescentes da cidade
de It SC, alagada por
hidreltrica
Mata Cap7.indd 215 2/23/06 11:50:55 PM
216
O
q
u
e
a
i
n
d
a
a
m
e
a
a
A alterao da paisagem pela chegada de
novos empreendimentos pode ser observada
ainda pela implantao de parques industriais
que no respeitam as caractersticas originais de
uma regio. Para implantar uma fbrica de aos
no litoral de Santa Catarina, por exemplo, um
grupo francs executou obras de aterramento em
reas de mangue, em regio considerada de alta
biodiversidade. Neste caso, a questo fnanceira
se sobreps ambiental, pois conforme o governo
atendeu vontade dos empreendedores, ignorando
impactos da atividade previstos no EIA/RIMA. O
empreendimento tem fomentado ainda a ocupao
desordenada de parte do litoral de Santa Catarina,
podendo ameaar at o litoral do Paran caso
haja vazamento dos produtos com que a empresa
trabalha.
Por fm, a abertura de estradas coloca-se
como mais um vetor de risco para a conservao,
causando o chamado efeito de borda com com-
prometimento para a foresta, os rios e a biodi-
versidade do entorno do empreendimento. Com
a criao dessas vias, o comrcio irregular e as
novas construes passam a se associar falta de
suporte e de condies para a demanda de pessoas
atradas pelas novas oportunidades.
Floresta
que o lago
de Barra
Grande
inundou, em
2005, pouco
antes do
enchimento
Mata Cap7.indd 216 2/23/06 11:50:57 PM
O problema na prtica O problema na prtica
217
O
q
u
e
a
i
n
d
a
a
m
e
a
a
A hidreltrica que
no viu a foresta
Abrigo de um dos ltimos remanescentes
de foresta primria de araucrias existentes
no Pas e de quatro das ltimas populaes
de uma espcie endmica de bromlia, a
Dyckia distachya, o trecho de cinco mil hec-
tares entre os municpios de Anita Garibaldi
(SC) e Pinhal da Serra (RS) corresponde
hoje ao lago da Usina Hidreltrica de Barra
Grande. Em julho de 2005, o caso de Barra
Grande tornou-se exemplo de uma derrota
histrica para os ecossistemas da Mata
Atlntica. Nessa data, o Ibama concedeu
licena de operao para o empreendimen-
to, autorizando o fechamento das compotas
da barragem e a inundao da foresta que
fcar submersa pelo grande lago da represa
da usina.
Barra Grande uma localidade no Vale
do Rio Pelotas, divisa de Santa Catarina com
Rio Grande do Sul, onde a geografa traa
belssimos desenhos na paisagem formando
uma calha de rio com declives acentuados,
cobertos ora por uma exuberante foresta
com araucrias, ora por campos nativos, ora
por propriedades agrcolas que l se implan-
taram ao longo do tempo.
As preciosas manchas de foresta com
araucrias, formao forestal do Domnio da
Mata Atlntica, e ecossistemas associados
existentes no Vale do Rio Pelotas esto na
rea de infuncia direta da Usina Hidreltri-
ca de Barra Grande, cuja barragem, de 190
metros de altura, j est cheia. A formao
de seu lago provocou a inundao de uma
rea de aproximadamente 8.140 hectares,
90% da qual recoberta por foresta primria
e em diferentes estgios de regenerao e
por campos naturais. Ali, na foresta tragada
pelas guas, estava um dos mais bem preser-
vados e biologicamente ricos fragmentos de
foresta ombrfla mista do estado de Santa
Catarina, em cujas populaes de araucria
foram identifcados os mais altos ndices de
variabilidade gentica j verifcados em todo
o ecossistema.
S recentemente, quando o empreen-
dedor a Barra Grande Energtica S/A, cuja
atual composio acionria tem a participa-
o das empresas Barra Grande Energia
S/A (Begesa), Alcoa Alumnio S/A, Camargo
Corra, Companhia Brasileira de Alumnio
(CBA) e DME Energtica Ltda. - solicitou ao
Ibama um pedido de supresso das forestas
a serem inundadas, descobriu-se que o Estu-
do de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatrio
de Impacto Ambiental (Rima) - documentos
necessrios para obter a licena de operao
do empreendimento , entregues em 1998
ao Ibama, omitiram a existncia desses re-
manescentes de foresta com araucria com
importantes populaes naturais de espcies
ameaadas de extino.
Ao analisar o pedido de supresso, o
Ibama solicitou um inventrio forestal, ela-
borado e apresentado pelo empreendedor
em maio de 2003, que mostrou, dessa vez, a
real situao da cobertura forestal existente
na rea que seria inundada. Na verdade, o
Rima apresentado havia reduzido a cobertura
forestal primria da rea a ser alagada de
2.077 para 702 hectares; a rea de foresta
Mata Cap7.indd 217 2/23/06 11:50:58 PM
218
O
q
u
e
a
i
n
d
a
a
m
e
a
a
O problema na prtica
em estgio avanado de regenerao - trata-
da no documento como um capoeiro de
2.158 para 860 hectares; a rea de foresta
em estgios mdio e inicial de regenerao
- tratada apenas como capoeira de 2.415
hectares para apenas 830 hectares. Alm dis-
so, no fazia meno clara sobre os campos
naturais, que esto presentes em mais de
1.000 hectares.
Ou seja: a licena de instalao da obra
havia sido concedida pelo prprio Ibama, em
junho de 2001, em pleno vigor da resoluo 278
do Conama (que proteje as espcies ameaa-
das de extino), com base em um documento
que falsifcara a real situao dos remanescen-
tes de Mata Atlntica existentes na rea a ser
diretamente afetada pelo reservatrio. Omitira,
inclusive, a existncia de um raro fragmento
de floresta com araucria com alto ndice
de diversidade gentica informaes que,
considerando a legislao em vigor, poderiam
inviabilizar a instalao do empreendimento.
Diante desse quadro, as ONGs am-
bientalistas realizaram uma visita regio
e, constatando a gravidade da situao,
a Federao de Entidades Ecologistas
Catarinenses e a Rede de ONGs da Mata
Atlntica impetraram, em setembro de 2004,
uma ao civil pblica na Justia Federal de
Florianpolis(SC), na tentativa de reverter
esta absurda situao. Enquanto isso, o
governo federal assinava com a empresa
um Termo de Compromisso que viabilizou a
assinatura de uma autorizao de desmata-
mento pelo Ibama.
Alm das plantas presentes na Lista
Ofcial de Espcies Brasileiras Ameaadas
de Extino, a rea do vale do Rio Pelotas
contm animais raros igualmente ameaa-
dos, como algumas aves de rapina. Com a
confrmao de que o enchimento do lago
provocou o desaparecimento de populaes
de bromlias ameaadas que s existiam
naquela rea, o Pas tambm deve prestar
contas comunidade internacional, j que
signatrio da Conveno da Diversidade Bio-
lgica e ir sediar a Conferncia das Partes
(COP) VIII da Conveno em 2006.
Bromlia Dyckia distachya - Extinta na natureza por conta de Barra Grande
F
o
t
o
:
G
e
r
s
o
n
B
u
s
s
Mata Cap7.indd 218 2/23/06 11:51:09 PM
219
O
q
u
e
a
i
n
d
a
a
m
e
a
a
Plantio de exticas
A implantao de florestas homogneas,
quase exclusivamente com espcies exticas de
rpido crescimento, pode produzir um nvel de
degradao semelhante quele provocado pela
agricultura convencional. O avano das monocul-
turas de rvores exticas se tornou um problema
grave principalmente no domnio original da
foresta ombrfla mista.
A expanso dessas florestas tem apro-
fundado o isolamento dos pequenos e mdios
fragmentos de forestas nativas, importantes para
qualquer perspectiva de recuperao do ecossis-
tema. Caracterizadas por sua agressividade e pelo
crescimento acelerado, as plantaes exticas
acabam eliminando qualquer possibilidade de os
remanescentes reocuparem reas desmatadas, es-
torvando, inclusive, a interligao dos fragmentos
existentes.
Na regio noroeste de Santa Catarina, por
exemplo, onde esto trs fragmentos que totalizam
cerca de 9.000 hectares considerados relevantes
para a conservao da foresta com araucria, o
Ministrio do Meio Ambiente detectou, por meio
de imagens de sa-
tlite e de visitas
de campo, a for-
mao de grandes
propriedades des-
tinadas ao refo-
restamento es-
pecialmente com
Pinus elliottii,
variedade qualif-
cada por bilogos
como invasora
contaminante.
Al m d e
comprometer a
regenerao do
ecossistema das araucrias, essa atividade eco-
nmica produz outros efeitos ambientalmente
danosos vida rural. Via de regra, as reas re-
forestadas, concludo o ciclo de crescimento
determinado pelos critrios comerciais, sofrem
um desmatamento completo, deixando o solo
exposto. Em seguida, o local queimado para a
limpeza do terreno. Alguns proprietrios ignoram
solenemente o Cdigo Florestal, plantando fo-
restas homogneas em reas de mata ciliar e em
superfcies com declividade superior a 45 e em
topo de morros.
Essas prticas geram processos erosivos,
perda de nutrientes do solo e, conseqentemente,
assoreamento de nascentes e cursos dgua. O
impacto sobre o solo agravado pelo trnsito de
veculos e mquinas pesadas pela rede de estra-
das abertas entre as rvores, que compactam o
terreno.
Uma notcia alentadora diante desse quadro
que algumas empresas esto adotando prticas
diferenciadas, como o rigoroso cumprimento da
legislao e o planejamento dos reforestamentos.
Os grandes empreendimentos tm ainda buscado
a certifcao forestal
Desmatamento
para plantio de
pinus
Mata Cap7.indd 219 2/23/06 11:51:24 PM
220
O
q
u
e
a
i
n
d
a
a
m
e
a
a
O problema na prtica
Espcie altamente invasora
O Pinus elliottii um pinheiro originrio
dos Estados Unidos cujas caractersticas
reprodutivas transformaram essa espcie
em uma ameaa recuperao das forestas
que integram o Domnio da Mata Atlntica,
especialmente a foresta ombrfla mista e os
campos naturais associados a essa foresta.
Nos campos, a situao ainda mais preo-
cupante, visto a facilidade de implantao da
monocultura de pinus, a qual, alm de extin-
guir as espcies nativas, tambm modifca
totalmente a paisagem tpica dessas regies.
Um estudo do engenheiro forestal Fernando
Bechara, do Laboratrio de Ecologia Vegetal
da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC) informa que esse pinheiro foi introdu-
zido em Santa Catarina no incio da dcada
de 1950 e, desde ento, tem provocado gra-
ves problemas ecolgicos no Estado.
A ausncia de predadores naturais, a
baixa necessidade de nutrientes, a poliniza-
o e disperso por meio do vento fazem do
Pinus elliottii uma espcie altamente invaso-
ra. De acordo com Bechara, suas sementes
aladas podem vir a germinar em distncias
superiores a 10 Km da rvore original, co-
lonizando inclusive o interior de unidades
de conservao como ocorreu no Parque
Estadual da Serra do Tabuleiro, regio da
Grande Florianpolis. Tal expanso acaba
por prejudicar a fauna e a fora nativas da
Mata Atlntica j que, ao sombrear reas
abertas, normalmente ensolaradas, impede
que a vegetao de porte baixo frutifque e
atraia animais.
Eucalipto
rvore rstica de origem australiana, o
eucalipto possui mais de 500 espcies e
conhecido pelo seu crescimento rpido e a
dispensa por cuidados no cultivo logo aps
o primeiro ano de plantio. Essa facilidade
contribuiu para a introduo da planta no
Brasil na forma de monoculturas por em-
presas nacionais e estrangeiras, ocupando
milhares de hectares de terras antes cobertas
por forestas nativas no Domnio da Mata
Atlntica.
No extremo sul da Bahia, o plantio exten-
sivo do eucalipto na dcada de 1980 deter-
minou a perda de 85% da Mata Atlntica pre-
servada na regio. Os problemas causados
desde ento na paisagem so crescentes:
a eucaliptocultura praticada por empresas
como Aracruz Celulose e Bahia Sul ocupam
um macio de cerca de 600 mil hectares,
segundo clculos da ONG Cepedes, dos 3
milhes de hectares do extremo sul baiano;
pequenos agricultores recebem incentivos
para implantar o cultivo do eucalipto na
propriedade; e a expanso da cultura para o
entorno de reas de mata nativa j visvel,
assim como o rebaixamento dos recursos
hdricos nas regies de maior adensamento
da espcie.
Alvo de polmicas na comunidade cient-
fca, as principais crticas ao uso do eucalipto
referem-se tendncia da planta em ressecar
o solo e empobrecer o meio ambiente.
Mata Cap7.indd 220 2/23/06 11:51:25 PM
221
Minerao
A devastao da Mata
Atlntica pela minerao
remonta ao perodo colo-
nial, com a retirada do ouro
encontrado sob extensas
reas de mata nativa em
Minas Gerais. As atividades
mineradoras j implica-
vam, assim, na destruio
da foresta e na retirada de
centenas de exemplares de
rvores nobres como as canelas, o jacarand, a
peroba e o cedro. Desde ento, a Mata Atlntica
tornou-se vtima direta dos impactos provoca-
dos pelos processos de minerao, da eroso e
alterao paisagstica provocadas por atividades
que vo da extrao de areia ao assoreamento e
contaminao das guas que a extrao do carvo
mineral causa.
Desforestamento, modifcao do relevo e
contaminao das guas, advindos dos proces-
sos de extrao de areia e carvo mineral tm se
destacado como um dos elementos de degradao
dos ecossistemas da Mata Atlntica. Alm da
supresso da cobertura vegetal e do estabeleci-
mento de processos erosivos, a extrao de areia
remove camadas do solo que funcionam como
fltro fsico e biolgico para as guas subterr-
neas, incluindo a diminuio da presso sobre
os lenis freticos caso a areia seja extrada em
grandes quantidades.
Combustvel no-renovvel, o carvo mineral
o resultado da transformao de troncos, razes,
galhos e folhas de rvores que fcaram milhares
de anos submersos em ambientes pantanosos.
No Brasil, as jazidas dessa matria compactada
localizam-se principalmente nos trs estados do
Sul, dispostas em camadas estratifcadas que po-
dem conter centenas de metros de espessura. So,
portanto, as tcnicas para extrao do minrio,
envolvendo o uso da chamada drenagem cida,
que levam eroso, facilitam a acidifcao do
solo e alteram signifcativamente a paisagem da
regio das lavras. O nvel de acidez do solo inibe,
por exemplo, o crescimento da vegetao e torna
o terreno imprprio para a agricultura.
Mas o efeito da extrao do carvo sobre a
qualidade dos recursos hdricos e os ciclos hidro-
lgicos ainda mais danoso. A alterao do pH
das guas pela drenagem cida mata os rios do
entorno da regio carbonfera. A drenagem dos
afuentes dos lavadores de carvo e a disposio
de rejeitos da minerao baixaram o pH da gua
de grande parte da regio sul de Santa Catarina.
O ambiente de reas carbonferas do Rio Grande
do Sul tambm se deteriorou: no Baixo Jacu, os
mananciais subterrneos foram afetados e boa
parte da sub-bacia do Arroio do Conde est com-
prometida; em Candiota, diversos pesquisadores
observaram a queda na qualidade das guas super-
fciais a jusante das zonas de lavra. A percepo
da degradao visvel ainda em casos como o
do Rio Tubaro (SC), que nasce no p da Serra
do Rio do Rastro, prximo das reas de minera-
o. Durante dcadas, os dejetos de lavagem do
carvo foram jogados em suas guas e ainda hoje,
sempre que chove, escorre uma lama de resduos
Minerao em So Paulo
Mata Cap7.indd 221 2/24/06 12:48:47 AM
222
O
q
u
e
a
i
n
d
a
a
m
e
a
a
amarelados de enxofre e ferrugem das encostas. J
o Rio Me Luzia (SC) foi recentemente apontado
como o nico caso no mundo a apresentar quatro
cores no seu curso de gua.
Em muitas ocasies, o carvo nacional
britado e lavado para a retirada de impurezas
antes de ser utilizado nas usinas. E a gua com os
rejeitos, mesmo depois de fltrada, ainda contm
metais dissolvidos que passam a ser descartados
nos cursos dgua.
Os impactos ambientais do carvo passam
ainda pela indstria, j que a queima do produto
produz cinzas que, se no removidas devida-
mente, provocam uma forma de eroso qumica
conhecida como lixiviao, quando os elementos
do solo, incluindo as substncias txicas, so
carregados para as drenagens adjacentes. J os
metais pesados das mesmas cinzas acabam indo
parar nos cursos dgua e contaminando os solos
e matas ciliares.
De todos os combustveis fsseis, o carvo
o que lana na atmosfera a maior quantidade de
CO2, xido de nitrognio e enxofre, por unidade
de energia gerada. Por esse perfl, junto com o pe-
trleo, o carvo responsvel por 85% do enxofre
lanado na atmosfera e por 75% das emisses de
dixido de carbono principal gs causador do
efeito estufa, pelo processo onde o CO2 absorve o
calor emitido pela superfcie da Terra e promove
o aumento da temperatura global.
Para completar o quadro de agresses am-
bientais envolvidas na minerao, diferentes
regies de abastecimento de gua j sofrem com
as irregularidades e atividades relacionadas ex-
plorao mineral. Em meados de 2005, diversos
pontos da sub-bacia Guarapiranga foram identif-
cados pelo Instituto Socioambiental (ISA) como
alvos de atividades de supresso da vegetao,
carvoaria, explorao mineral e remoo de ter-
ras. Neste caso, as mineraes exploravam reas
completamente diversas daquelas com concesses
de lavra pelo Departamento Nacional de Produo
Mineral (DNPM).
Entre os casos mais graves de danos perma-
nentes pela minerao, esto os das regies do
Vale do Ribeira de Iguape e do Vale do Paraba. A
extrao de areia do rio Paraba do Sul repercutiu
na mdia e criou novas polticas relacionadas ao
tema. Mas estudos para o planejamento e zo-
neamento minerrio da regio ainda no foram
finalizados como importante instrumento de
regulamentao.
Minerao
em rea de
Domnio da
Mata Atlntica
Mata Cap7.indd 222 2/23/06 11:51:41 PM
O problema na prtica
223
O
q
u
e
a
i
n
d
a
a
m
e
a
a
O problema na prtica*
Carvo e degradao
na Bacia do Ararangu
Milhares de toneladas de terra removi-
das pela multinacional escavadora Marion,
destruio da vegetao nativa e comprome-
timento das nascentes locais contribuem para
o cenrio de degradao da Bacia Hidrogrf-
ca do Rio Ararangu, na regio sul de Santa
Catarina, considerada a mais poluda do
Brasil por resduos piritosos do carvo. Com
a substituio do petrleo pelo carvo mineral
na gerao de energia e na siderurgia, aps
a Segunda Guerra Mundial, a Companhia
Siderrgica Nacional (CSN) instalou-se de-
fnitivamente na Bacia do Ararangu para o
desenvolvimento de atividades carbonferas.
E a explorao e benefciamento do minrio
na regio acarretaram a devastao da mata
nativa e a perfurao desordenada do solo,
dando ao cenrio as caractersticas de uma
plancie lunar.
Aos poucos, o sul de Santa Catarina
passou a ser considerado uma das 14 reas
mais poludas do Brasil, de acordo com o
Decreto Federal 85.206 de 1980. A mobiliza-
o para reverso do caos ambiental ocorreu
por meio de uma sentena judicial proferida
somente em 2000, que condena as minera-
doras, inclusive a estatal CSN, a promoverem
a recuperao do meio ambiente do sul do
Estado. Recentemente, uma deciso judi-
cial da esfera federal tambm condenou a
Tractebel, proprietria da termeltrica Jorge
Lacerda de Capivari de Baixo, indenizao
de danos causados na sade pblica.
Num dos primeiros casos de participao
da sociedade civil em rgos deliberativos,
a ONG Scios da Natureza tambm passou
a ocupar a presidncia do Comit de Geren-
ciamento dos Recursos Hdricos da Bacia do
Rio Ararangu. O objetivo do Comit, criado
no mbito do cenrio de devastao pela
minerao, passou a ser o uso adequado dos
recursos hdricos e da biodiversidade local.
*Tadeu Santos coordenador geral dos Scios da Natureza e Juliana Vamerlati Santos, mestranda
em Histria pela Universidade Federal de Santa Catarina e integrante dos Scios da Natureza
Rio
assoreado e
poludo por
minerao
Mata Cap7.indd 223 2/23/06 11:51:51 PM
224
O
q
u
e
a
i
n
d
a
a
m
e
a
a
que a constituio garante tanto o direito preser-
vao ambiental como aos territrios tradicionais,
colocando em lados opostos diferentes rgos
de governo, organizaes no-governamentais
ambientais, sociais e socioambientais, muitas
vezes criando impasses onde normalmente h
perdas tanto para o meio ambiente quanto para
as populaes.
A questo indgena a mais complicada,
pois depende de negociaes constantes que,
mesmo avanando, continuam deixando confitos
latentes e gerando impactos negativos nas reas
de conservao. A escassez de reas disponveis
para a instalao das populaes indgenas dei-
xam as poucas reas ainda preservadas de Mata
Atlntica altamente vulnerveis a invases. Os
casos de sobreposies mais conhecidos em
reas de Mata Atlntica so os Patax no Monte
Pascoal, na Bahia, os Guarani, nas regies Sul e
Sudeste, e os Xokleng no Alto Vale do Itaja, em
Santa Catarina.
Sobreposies
entre unidades de
conservao e
populaes tradicionais
A destruio acelerada da Mata Atlntica e
a corrida para garantir a conservao do mximo
possvel dos pouco mais de 7% que restaram
do bioma fzeram com que as populaes tradi-
cionais elas mesmas, atravs de seu modo de
vida, bastante responsveis por estas reas ainda
existirem tambm passassem a ser vistas como
ameaa Mata Atlntica. So caiaras, caboclos,
quilombolas e, sobretudo, ndios cujas terras de
ocupao tradicional esto sobrepostas a unidades
de conservao. So reas s vezes to pequenas
que mesmo as atividades de subsistncia de pou-
cas pessoas, como abrir clareiras, caar e fazer
roas para consumo prprio, podem representar
grandes estragos.
Os casos de sobreposio tm gerado confi-
tos de toda natureza, comeando pelos legais, j
Terra Indgena
em Nonoai
RS
Mata Cap7.indd 224 2/23/06 11:51:59 PM
O problema na prtica O problema na prtica
225
O
q
u
e
a
i
n
d
a
a
m
e
a
a
BIBLIOGRAFIA: pg. 322
Um exemplo recente de confito entre n-
dios e unidades de conservao foi a invaso
do Parque Nacional do Iguau, no segundo
semestre de 2005, por um grupo de 54 ndios
Av-guarani, que permaneceram no local
por 80 dias e foram retirados depois de uma
operao conjunta entre as polcias Federal
e Militar, que acabou em agresso e feridos
dos dois lados quando chegaram reserva
em Santa Rosa do Oco (regio oeste do
Paran), onde viviam os ndios. A retirada foi
possvel graas a uma liminar que liberou a
reintegrao de posse solicitada pelo Ibama
um ms depois da invaso.
Os ndios reivindicavam terras para
morar e escolheram o local porque um so-
nho revelou ao paj da etnia que as reas
do Parque Nacional do Iguau seriam a
terra prometida de seu povo. Segundo um
levantamento realizado por uma equipe
de bilogos do Ibama, durante o perodo
em que os ndios permaneceram no Par-
que, mais de mil rvores foram cortadas,
o equivalente a rea de 5 hectares. Alm
disso, foram mortos animais como cotia,
veado, gato-maracaj e lagarto.
Parque Nacional do Iguau
Mata Cap7.indd 225 2/23/06 11:52:06 PM
O problema na prtica
226
U
m
a
e
x
p
l
o
s
o
d
e
v
i
d
a
Crueldade e baixa
diversidade
Em cada 10 animais trafcados, apenas
um resiste s presses da captura e do ca-
tiveiro. Alm da bvia perda de diversidade
na natureza, que faz as listas de espcies
ameaadas de extino no pararem de
crescer, existe ainda a crueldade contra os
bichos. Os trafcantes chegam a anestesiar
os animais para que paream dceis ou at a
furar os olhos de aves para que no vejam a
luz do sol e no cantem, para no chamarem
a ateno da fscalizao durante o processo
de transporte.
A falta de animais tambm colabora para
a diminuio da diversidade de plantas, j
que so importantes dispersores de semen-
tes, causando um desequilbrio ambiental
difcilmente recuperado.
Trfco de animais
O trfco de animais silvestres o terceiro
maior comrcio ilegal do mundo, atrs somen-
te das armas e das drogas e uma das grandes
ameaas fauna do mundo todo. Esse comrcio
ilegal movimenta US$ 10 bilhes a cada ano e
o Brasil responde por 10% desse mercado. O
comrcio interno responde por 60% do trfco e
o externo, por 40%.
Segundo a Lei de Crimes Ambientais, proi-
bido caar, vender, transportar e manter animais
silvestres em cativeiro. No entanto, estima-se que
sejam apreendidos pelo rgos ofciais (Ibama,
polcias ambientais) 45 mil animais silvestres por
ano no Brasil. Levantamento da Rede Nacional
de Combate ao Trfco de Animais Silvestres
(Renctas), porm, calcula que as apreenses re-
presentem somente 0,5% dos animais trafcados.
O maior receptor desse animais o eixo Rio-So
Paulo, onde apenas na Grande So Paulo existem
entre um e dois milhes de animais silvestres em
cativeiro.
Embora grandes rotas de trfico tenham
como origem as regies Norte e Centro-Oeste, a
Mata Atlntica tambm bastante visada. Animais
so capturados para venda tanto em locais com
grandes remanescentes, como o Sul da Bahia,
quanto em pequenas matas, como na Regio Me-
tropolitana de So Paulo, onde sobretudo pssaros
so apanhados e comercializados em feiras e pet
shops da prpria regio.
Espcies como mico-leo-preto
esto ameaadas pela falta de
remanescentes forestais e pelo
trfco
Mata Cap7.indd 226 2/23/06 11:52:19 PM
227
O
q
u
e
a
i
n
d
a
a
m
e
a
a
Carcinicultura*
A introduo da carcini-
cultura marinha (cultivo de
camares marinhos) no Brasil
bastante recente e no referen-
dada como uma tradio cultural
entre as populaes do nosso
litoral. Seu desenvolvimento data
de pouco mais de vinte anos, nos
quais vimos proliferar, particu-
larmente no Nordeste, fazendas
de cultivo extensivo e semi-ex-
tensivo de pequena, mdia e grande escala. Foi
em meados da dcada de 1990 que se iniciou, no
litoral nordestino, a carcinicultura industrializada
de gua salgada. A introduo de espcies exti-
cas, somada ao desenvolvimento de tecnologias
de cultivo e manejo mais efcientes, possibilitou
o incremento da produo, ampliando as reas
cultivadas no Pas.
Estes fatos, e particularmente o sucesso de
implementao da espcie Litopenaeus vanna-
mei, fzeram rapidamente o Brasil sair de uma
produo de 3.600 toneladas em 1997, para
60.128 toneladas em 2002, confgurando o aqui
denominado milagre brasileiro da carcinicultura.
Dessa maneira, o Brasil transformou-se em um
dos maiores produtores mundiais de camares
cultivados, estando frente da China, Tailndia
e Equador. Assim, podemos considerar que no
Brasil, especialmente no Nordeste, o agronegcio
do camaro marinho est em expanso.
Esses resultados so vistos com entusiasmo
pelo setor carcinicultor, mas tm trazido preocu-
paes, devido ao incremento dos confitos com
outros usurios dos mesmos recursos naturais e
ambientalistas, representados principalmente por
organizaes no-governamentais (ONGs). Esses,
com base na trajetria histrica da carcinicultura
mundial e literatura especializada e em fatos que
rotineiramente ocorrem em nosso litoral, carac-
terizados como crimes ambientais, questionam a
atividade, particularmente em relao aos seus
custos e benefcios sociais e ambientais.
Considerando as grandes dimenses da car-
cinicultura e sua extensa cadeia produtiva, a qual
compreende e/ou ramifca-se em atividades como
produo de insumos, larviculturas, fazendas de
engorda, empresas de benefciamento e indstrias
qumicas que utilizam como matria-prima os
resduos do camaro, no pretendemos esgotar o
tema, nem relacionar todos os tipos de interaes
ambientais, econmicas e sociais envolvidos. O
enfoque escolhido reduz a discusso aos aspectos
relacionados situao no Brasil, com nfase
especial regio Nordeste. Neste contexto, as
interaes limitam-se s questes de sustentabi-
lidade, ambientais e socioeconmicas.
Sustentabilidade ambiental
O desenvolvimento da carcinicultura no
Brasil, particularmente no litoral nordestino, tem
sido apoiado por grandes investimentos e atra-
entes incentivos fscais, como a reduo de 75%
do Imposto de Renda e iseno de ICMS, PIS e
Cofns, nas operaes de exportaes, operaciona-
lizados por rgos de desenvolvimento e grandes
Populao tradicional ameaada por carcinicultura
Mata Cap7.indd 227 2/23/06 11:52:22 PM
228
O
q
u
e
a
i
n
d
a
a
m
e
a
a
agentes fnanceiros, como BNDES, Banco do
Brasil, FINEP, Banco do Nordeste, entre outros.
Em contraponto s expectativas de gerao de
renda e empregos, essa atividade tem despertado
questionamentos quanto sua sustentabilidade
ambiental nos prximos anos e real avaliao
dos riscos aos quais nossos ecossistemas esto
sendo submetidos.
As preocupaes no so infundadas, haja
visto o rastro de insustentabilidade deixado em
pases com tradio na carcinicultura industrial,
como Taiwan, Indonsia, ndia, Mxico, Hondu-
ras e Equador, os quais vivenciaram na dcada
passada srios problemas ambientais associados
expanso dessa atividade.
Hoje, as discusses no Brasil focadas na
carcinicultura seguem duas vertentes distintas: a
degradao ambiental como um todo e o impac-
to dos problemas ambientais na produtividade
e no controle de doenas (sustentabilidade).
conhecida a relao direta entre o aparecimento
e a velocidade de disseminao de doenas e a
degradao ambiental.
Assim, para garantia da sustentabilidade da
carcinicultura nacional imperativo o conheci-
mento e o monitoramento dos impactos ambien-
Manguezais
preservados:
cada vez
mais raros
Mata Cap7.indd 228 2/23/06 11:52:24 PM
229
O
q
u
e
a
i
n
d
a
a
m
e
a
a
tais da atividade; o estabelecimento da capacidade
de suporte das bacias destinadas cultura do
camaro; e investimentos em pesquisas voltadas
para neutralizar ou reduzir esses impactos, os
quais possuem elevado nvel de complexidade,
devido utilizao de recursos especficos e
diferenciados em cada elo da cadeia produtiva,
acarretando diversos efeitos no meio ambiente.
Nesse sentido, de acordo com a Associao
Brasileira de Carcinicultores (ABCC), foi defnido
um Cdigo de Prticas Responsveis sob o ponto
de vista ambiental e social para o cultivo do cama-
ro, o qual busca contribuir para a conscientizao
e motivao das partes envolvidas no processo,
com o objetivo de assegurar a sustentabilidade
ambiental da atividade. Ressaltamos ainda as
orientaes feitas pelo poder pblico, respaldadas
pela Resoluo do Conselho Nacional do Meio
Ambiente (Conama) n 312, de 10 de outubro de
2002, que dispe sobre o licenciamento ambiental
dos empreendimentos de carcinicultura na zona
costeira e sobre a defnio legal das reas onde o
cultivo de camaro em cativeiro est autorizado, a
saber, em salinas abandonadas, reas de mangue
no regeneradas e reas anteriormente destinadas
piscicultura ou pecuria.
A atividade parece, contudo, ignorar essas
recomendaes, sendo imediatista e sem respon-
sabilidade ambiental, observando-se na prtica a
contnua expanso da maioria das unidades produ-
toras, especialmente as de menor porte (at 10 ha),
em locais proibidos, tais como reas de proteo
ambiental, mangues naturais ou regenerados.
Por outro lado, verifca-se a atuao defcien-
te das instituies de administrao e controle
ambiental no mbito federal (Ibama) e estadual
(agncias de conservao do meio ambiente) em
relao regulamentao, controle e fscalizao
das empresas do setor. Desse modo, o que se
observa na atividade o elevado risco ambiental
e a ausncia do carter de sustentabilidade. H
regies do Cear, Piau e Rio Grande do Norte
onde foi diagnosticada uma doena caracterizada
pela necrose do corpo do camaro, sendo consi-
derada, devido sua elevada disseminao, como
o pice de uma trajetria de insustentabilidade
para uma determinada atividade (Mello-2003).
Reforando esse ponto de vista, salienta-se que as
doenas associadas criao do camaro podem
atingir tambm outros animais e contribuir para a
diminuio de populaes naturais de carangue-
jos, peixes, entre outros.
Ainda nesse contexto, apesar de sua alta
rentabilidade, a carcinicultura gera impactos am-
bientais de grandes propores, acabando quase
sempre em epizootias, cuja repercusso na ativi-
dade costeira desastrosa. As grandes epizootias
do ano de 1989, devido ao vrus da necrose hipo-
dermal e hematopoitica infecciosa (IHHNV), e
a de 1992, provocada pelo vrus da sndrome de
Taura (TSV), tiveram conseqncias econmicas
nefastas para os pases que se dedicavam car-
cinicultura. Essas ocorrncias levaram a intensas
pesquisas, as quais concluram ser a deteriorao
do ambiente de suporte o fator mais importante
dentre as causas de epizootias.
A carcinicultura representa ameaa ainda
para a biodiversidade do litoral amaznico bra-
sileiro, pois a atividade, proibida at bem pouco
tempo no Maranho, tem agora nesse Estado mais
uma rea de expanso. Devemos chamar ateno
para o aspecto econmico, pois o camaro rosa
da costa norte do Brasil o responsvel pela
principal pescaria da regio e faz parte de um dos
mais importantes bancos camaroneiros do mundo,
estendendo-se desde Tutia (MA), at o delta do
Orinoco, na Guiana. Por outro lado, nos estados
do Maranho e do Par, encontram-se cerca de
50% da produo total controlada de carangue-
jo-u das regies Norte e Nordeste, atendendo
demanda de vrias capitais nordestinas.
Mata Cap7.indd 229 2/23/06 11:52:24 PM
230
O
q
u
e
a
i
n
d
a
a
m
e
a
a
O desequilbrio da dinmica ambiental, a
partir do desrespeito capacidade de carga da
natureza, favorece a exploso de enfermidades
infecciosas, as quais acabam provocando uma
elevada taxa de mortalidade das populaes
no cultivo, gerando em seguida um colapso da
atividade. Por outro lado, quando uma empresa
aumenta o nvel de produo acima dessa capa-
cidade de carga, haver um excesso de poluio
que o ambiente no consegue absorver. Produz-se
ento o colapso do sistema a mdio prazo, o qual
gera deteriorao ambiental e, conseqentemente,
um custo social maior.
Assim, os lucros anteriormente obtidos com a
atividade vo para a empresa, enquanto as conse-
qncias do empobrecimento ambiental, traduzi-
das em perda da qualidade de vida, so repartidas
entre todos os membros da sociedade.
A carcinicultura conta com problemas si-
milares aos de muitas outras atividades de pro-
duo. Portanto, urgente defnirmos, enquanto
sociedade, o que queremos que seja sustentvel
dentro desse agronegcio. Poderamos priorizar a
produtividade obtida pelo cultivo; a contribuio
dos recursos naturais; a viabilidade econmica da
espcie cultivada; a diversidade biolgica; a gera-
o de renda para as geraes futuras; a qualidade
ambiental e a integridade cultural das comuni-
dades em relao sociolgica satisfatria dentro
do contexto humano. No entanto, o que temos
verifcado a constatao peridica de denncias
de impactos socioambientais que apontam para a
insustentabilidade da atividade no Brasil.
Os carcinicultores brasileiros rebatem
dizendo que enquanto os ambientalistas e o
meio empresarial no estabelecerem um dilogo
objetivo e prtico defnindo uma normatizao
ambiental nica e efetiva a seguir e que seja
exeqvel, a polarizao que hoje persiste s vai
continuar a estimular confitos e a proliferao
da atividade informal, sem regulamentao, sem
limites e sem controle.
O presidente da Associao Brasileira dos
Criadores de Camaro (ABCC), por outro lado,
alega serem as crticas ao setor desprovidas
de fundamentao tcnica e orquestradas por
concorrentes internacionais, tementes da fora
da carcinicultura brasileira, com o objetivo de
desestabilizar um agronegcio que traz amplas
perspectivas economia nacional, sobretudo no
Nordeste. Afrma ainda estarem o Ministrio P-
blico e a Procuradoria da Repblica, de maneira
geral, tomando partido de setores alienados da
sociedade, desconsiderando as evidncias forne-
cidas pelos criadores e o histrico da atividade
no Brasil. Outrossim, cita a falta de apoio do
Ministrio do Meio Ambiente (MMA), o qual
apenas estaria enfocando aspectos negativos,
como a destruio dos manguezais e a falta de
licenciamento, frutos da incapacidade de fscali-
zao dos rgos ambientais, visto que a ABCC
contrria utilizao de reas de mangue para
a prtica da atividade.
O segmento da sociedade representado pelas
comunidades tradicionais e ambientalistas, por
sua vez, consoantes com a legislao ambiental,
apoiaram recentemente (janeiro de 2005), junto ao
MMA, a criao de um Grupo de Trabalho (GT)
para tratar questes pertinentes carcinicultura no
Brasil, sendo a iniciativa contestada pela ABCC e
Associao Brasileira de Entidades Estaduais de
Meio Ambiente (Abema), sob a alegao de que
uma nova discusso do tema, j realizada em outro
GT do MMA, poderia repercutir na economia dos
estados, principalmente no Nordeste.
Esses frmes posicionamentos por parte dos
segmentos interessados no fortalecimento da car-
cinicultura brasileira contrapem-se amplamente
aos interesses daqueles que consideram que o tema
ainda no foi conclusivamente discutido e que a
atividade no Brasil tem como desafo alcanar um
crescimento harmnico com prudncia ecolgica,
eqidade social e viabilidade econmica.
Mata Cap7.indd 230 2/23/06 11:52:25 PM
231
O
q
u
e
a
i
n
d
a
a
m
e
a
a
Meio ambiente
Com o crescimento em progres-
so geomtrica da populao mundial
e a exacerbada utilizao dos recursos
naturais, uma grande presso est
sendo colocada sobre a terra, a gua,
a energia e os recursos biolgicos,
elementos imprescindveis para a
sustentabilidade da vida no planeta.
Sob essa tica, o desenvolvimento
acelerado da carcinicultura tem gerado confitos e,
nos ltimos anos, a atividade vem sendo acusada
de causar impactos negativos ao meio ambiente,
originando grandes prejuzos e perdas e destruin-
do ecossistemas importantes, principalmente
manguezais, esturios e baas.
No Brasil, a carcinicultura tem sido igual-
mente criticada por diferentes segmentos da
sociedade, como associaes de moradores,
instituies religiosas, cientistas e ONGs. Essas
ltimas, particularmente, tm acompanhado a
trajetria internacional desse agronegcio e mo-
nitorado a sua expanso em nosso litoral, bem
como as comunidades diretamente afetadas pela
atividade, atravs das quais possvel traar um
claro paralelo entre os latifndios de cana-de-a-
car e as grandes fazendas de cultivo de camaro,
por suas prticas impactantes, como a derrubada
e queima dos manguezais; a ocupao de reas
de grande diversidade e importncia ecolgica,
como restingas e apicuns; e a contaminao de
recursos como o solo, lenis freticos, rios,
esturios e baas.
Como agravante, estudos recentes apontam
uma tendncia para o avano da carcinicultura
marinha para regies mais interiores dos estados,
como mata, agreste e semi-rido, levando consigo
o risco de impactos ambientais, particularmente
para a regio da Mata, como a salinizao do solo,
devido aclimatao da espcie marinha para
guas com reduzida salinidade ocorrer artifcial-
mente de forma gradativa, atravs de mecanismos
de mudana da concentrao salina nos viveiros
de cultivo.
Com relao aos efeitos impactantes da ocu-
pao do solo, advindos da criao de camares
marinhos, a ocupao de reas de manguezais ,
sem dvida, o que apresenta maior visibilidade.
Assim, diversas revistas de pesquisa tm apontado
a carcinicultura na costa brasileira como um srio
risco de destruio dos manguezais. Segundo a
Global Aquaculture Alliance (GAA), o impacto da
destruio dos manguezais ocasiona importantes
mudanas ecolgicas oceanogrfcas, alm das j
mencionadas socioeconmicas. Afora a supres-
so dos manguezais, a construo de viveiros
de camaro promove outros impactos sobre esse
ecossistema, como a modifcao do fuxo e do
padro de circulao de gua no esturio, cau-
sada pela construo dos diques. Ainda sobre a
construo dos viveiros, pode-se citar as tcnicas
utilizadas no Rio Grande do Norte, onde muitas
fazendas importam argila de reas adjacentes ao
empreendimento, degradando os locais de onde o
material retirado e impactando a paisagem. Por
outro lado, a transferncia de solos de caracters-
ticas diversas para reas anteriormente ocupadas
por manguezais difculta a regenerao, caso a
atividade venha a cessar.
Viveiro irregular
na comunidade
do Chi, Ilha de
Itamarac PE
F
o
t
o
:
A
r
q
u
i
v
o
C
P
R
H
P
E
Mata Cap7.indd 231 2/23/06 11:52:30 PM
232
O
q
u
e
a
i
n
d
a
a
m
e
a
a
Da mesma forma, encontram-se relacionados
implantao da carcinicultura impactos pelo uso
irregular dos corpos dgua, como: alteraes
da salinidade atravs dos efuentes lanados dos
viveiros, normalmente mais salgados devido
evaporao, descritas como sendo prejudiciais
s espcies de mangue, particularmente ao man-
gue-branco (Laguncularia racemosa), de maior
afnidade por ambientes de menor salinidade; e a
eutrofzao do ambiente causada pelos efuentes
dos cultivos, por conta da associao e da relao
direta da biomassa do ftoplncton e da deman-
da bioqumica de oxignio no ambiente com os
despejos dos viveiros e a biomassa dos camares
cultivados, alm da interferncia nos processos de
colonizao de propgulos e sementes da vege-
tao devido ao crescimento excessivo de micro
e macroalgas.
Entre os demais impactos referentes utili-
zao dos corpos dgua, podemos citar ainda a
eroso do pool gentico de certas populaes
nativas e enfermidades, em geral relacionadas
introduo de espcies exticas; escape da biota
do cultivo para os esturios; utilizao de produtos
qumicos (teraputicos, corretores do pH da gua e
do solo, pesticidas, fertilizantes e aditivos usados
nas raes); salinizao de grandes extenses de
terra; deposio de sedimentos e, por fm, altera-
es trfcas nos ecossistemas utilizados.
Do ponto de vista tico, vemos que a preo-
cupao dos segmentos ligados carcinicultura
internacional foi expressa atravs da Declarao
de Cholutecas elaborada em Honduras, em 16 de
outubro de 1996, envolvendo delegados governa-
mentais e comunitrios da Amrica Latina, Eu-
ropa e sia. Essa declarao deixou transparecer
uma profunda preocupao com a destruio do
meio ambiente, particularmente dos ecossistemas
de forestas, estuarinos e lagunares, transformados
em reas de cultivo de camares, o que confere
atividade o carter de insustentabilidade.
Por outro lado, no Brasil, carcinicultores
vinculados ABCC, rebatem as crticas ao setor,
alegando que os impactos ocasionados pela ativi-
dade em nosso litoral so insignifcantes quando
comparados aos de outros setores produtivos.
Consideram ainda que hoje a maioria das grandes
fazendas de camaro em funcionamento localiza-
se em reas de litoral superior, como a dos estados
da Bahia e Pernambuco, enquanto no Cear e no
Piau predominam em reas de apicum, e no Rio
Grande do Norte e Paraba, nas reas de antigas
salinas e viveiros de peixes estuarinos. Afrmam
tambm que a maioria dos casos de degradao
dos manguezais esteve associada construo de
canais de abastecimento e descarga de gua.
Avaliando o exposto, podemos concluir que
no Brasil parece existir uma carcinicultura com
duas fsionomias, ou seja: uma degradadora e
outra ambientalmente correta. A primeira formada
pelo grupo dos pequenos e mdios carcinicultores
e a segunda representada pelos grandes empre-
srios do setor, levando-nos a recordar conceitos
hoje totalmente superados, os quais vinculavam,
no passado, os atores sociais de menores recursos
fnanceiros condio de maiores poluidores.
No obstante, a esse enfoque resta-nos o
questionamento que insiste em no calar: em que
elo da carcinicultura brasileira, cuja produo
direcionada principalmente exportao, encon-
tram-se esses pequenos e mdios carcinicultores,
os quais, mesmo imersos na marginalidade da
lei e estigmatizados como contraventores legais
por infringirem claramente as leis ambientais
brasileiras, insistem em permanecer e no raro
se expandir?
*Kenia Valena Correia, biloga, especialista
em ecologia e professora da Univ. Federal de Per-
nambuco e Bruno Machado Leo, biologo, espe-
cialista em oceanografa biolgica, e membro do
GESCQ (texto inclui O problema na prtica)
Bibliografa: pg 321
Mata Cap7.indd 232 2/23/06 11:52:30 PM
O problema na prtica O problema na prtica
233
O
q
u
e
a
i
n
d
a
a
m
e
a
a
Efeitos socioeconmicos
Em vrias regies do mundo, o xito
expansionista da carcinicultura alcanado a
longo prazo foi tal que deslocou efetivamente
outras atividades econmicas, particularmente
aquelas vinculadas subsistncia das co-
munidades tradicionais, causando rupturas
nas estruturas sociais locais, desemprego e
xodo. Por ser direcionada exportao, no
trouxe reais benefcios s comunidades locais
e gerao de empregos, a qual foi sempre
em nmero inferior queles destrudos com a
perda das reas de pesca e agricultura.
No Brasil, os impactos socioeconmicos
da atividade, em comparao ao cenrio
mundial, so de menor intensidade devido,
principalmente, baixa ocupao econmi-
ca e densidade populacional verifcada nas
reas exploradas pelo setor.
Quanto aos benefcios socioeconmicos
alardeados pela indstria da carcinicultura,
esses recaem basicamente na gerao de
receitas e de empregos. Para essa ltima,
de acordo com Rocha (2002), presidente
da ABCC, a relao gerada pela atividade
no Brasil de um emprego permanente por
hectare explorado, sendo superior ao verif-
cado na pecuria e nos cultivos do algodo,
soja e milho.
Por outro lado, percorrendo o litoral
nordestino, concordamos com o relatado por
Quesada et al (1998), que um simples hec-
tare de manguezal prov a diversas famlias
uma variedade de produtos e servios, utiliza-
dos historicamente de forma sustentvel por
comunidades costeiras. Assim, os impactos
socioambientais provocados pela perda des-
ses ecossistemas, decorrentes da carcinicul-
tura, so realmente relevantes, pois oferecem
s comunidades produtos para combustvel,
material de construo, pesca, agricultura,
forragem, papel, medicina e alimentos como
peixes, crustceos e moluscos.
Dessa forma, dentre os impactos so-
cioeconmicos que a atividade apresenta,
salienta-se a depauperao das comunida-
des no envolvidas com o cultivo, pois, de
acordo com membros de comunidades de
pescadores nordestinos, as empresas que
desenvolvem a carcinicultura trazem para a
regio sua prpria mo-de-obra, restando
populao local o trabalho de roar os man-
gues e o de participar na despesca. Com
isso, a indstria da carcinicultura tem tambm
contribudo para o surgimento de problemas
como a marginalizao social, utilizando-se
da mo-de-obra local para, alm das ativi-
dades supracitadas, apenas a manuteno
das instalaes e dos cultivos, restringindo
sua funo a vigilantes, servios gerais etc.,
caracterizando-a como mo-de-obra barata,
enquanto que as atividades tcnicas e de
manejo so reservadas para profssionais
com formao especializada, normalmente
adquirida em grandes centros de pesquisa
ou universidades.
Esse fato agravado quando se veri-
fca que, j em 1996, o cultivo de camaro
no Cear estava implantado dentro dos trs
principais esturios do Estado, ou seja, o
esturio do Rio Acara, do Rio Jaguaribe e
do Rio Pirangi, onde o setor pesqueiro tra-
dicional era considerado um dos principais
recursos econmicos, constituindo-se em
um dos maiores geradores de emprego e
renda local. No entanto, com a implantao
da carcinicultura, houve a sobreposio de
atividades nos espaos comuns, antes mais
socializados ou democrticos, e a reduo
dos espaos pblicos, que foram cercados e
privatizados, forando a mudanas das rotas
Mata Cap7.indd 233 2/23/06 11:52:31 PM
234
O
q
u
e
a
i
n
d
a
a
m
e
a
a
e passagens das comunidades, aumentando
o esforo ao acesso e captao dos recursos
naturais, antes mais facilmente alcanados.
Essa realidade tambm vem ocorrendo
e sendo denunciada em outros locais do lito-
ral nordestino, como em Sergipe, onde pes-
cadores alegam que os viveiros encontrados
no distrito de Piabita esto implantados prxi-
mos aos rios e mangues da regio e cercados
com cercas eltricas, no raro ocorrendo
acidentes vitimando pescadores tradicionais
locais, que disputam com a carcinicultura o
acesso aos bens e recursos naturais.
A carcinicultura imposta s nossas
comunidades litorneas se diferencia nota-
damente da atividade pesqueira tradicional,
entre outros aspectos, pelo fato de que na
primeira, a produo coletada por indiv-
duos ou associaes que so donos dos
organismos aquticos em cultivo. J na se-
gunda, a produo corresponde extrao
de recursos hidrobiolgicos de livre acesso,
que podem ser explorados por qualquer
pessoa ou entidade. Assim, vemos que com
a expanso da carcinicultura em nosso litoral
tem ocorrido uma transformao do modo de
aproveitamento e acessibilidade aos recursos
naturais, com a utilizao por particulares,
atravs da privatizao e desapropriao, de
recursos antes utilizados comunitariamente
como rios, manguezais, reas de restinga,
apicuns e baas, para o cultivo de camares.
Convm tambm salientar que a terra adqui-
rida para a implantao do negcio da carci-
nicultura, em geral, comprada de pequenos
proprietrios e donos de fazendas costeiras
por grandes companhias, incrementando
o preo e induzindo seus antigos donos a
vend-la, sobretudo pela carncia de capital
para investir em carcinicultura.
No obstante, com o discurso de gera-
o de empregos e de receita, a indstria da
carcinicultura comete injustia social tambm
na repartio dos lucros obtidos do patrim-
nio natural, bem comum de todos, gerando
a explorao de um contingente de homens
sem qualifcao como mo-de-obra e, em
conseqncia, a fgura marginal socioecon-
mica, oriunda de comunidades pesqueiras
tradicionais. Seus componentes, qualifcados
cultural e dignamente, ao longo dos sculos
como pescadores, catadores e marisqueiras,
correm agora o risco de serem somados a
um novo e emergente perfl de ator social,
denominado os sem gua.
No caso da maricultura-cultivo de orga-
nismos marinhos, denominao na qual se
enquadra a carcinicultura marinha, os primei-
ros a serem considerados sem-gua seriam
os pescadores artesanais, acostumados a
extrair dos ecossistemas costeiros o sustento
de sua famlia e que nunca tiveram a preocu-
pao, tampouco a possibilidade econmica,
de adquirir a posse de terras costeiras que
pudessem agora utilizar para o cultivo de
organismos aquticos, como, por exemplo, o
camaro marinho. Desse modo, eles perdem,
com a instalao das fazendas de camaro
em reas litorneas, suas reas de ocupao
habitacional, alm de direito ao livre acesso
aos recursos naturais antes utilizados.
No entanto, aparentemente alheios am-
pla dimenso de todo esse quadro socioecon-
mico, construdo atravs do desenvolvimento
da carcinicultura brasileira, Vieira-Filho (2002),
ligado ao segmento empresarial da carcinicul-
tura, refere a seguinte mxima: Estamos
deixando de ser pescadores e nos tornando
aqicultores, a qual esconde atrs de si a idia
do desaparecimento da cultura dos pescadores
tradicionais e, conseqentemente, da democra-
tizao dos espaos de uso comum.
Mata Cap7.indd 234 2/23/06 11:52:31 PM
235
O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s
e
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
Oportunidades e
experincias
Mata Cap8.indd 235 2/23/06 11:46:48 PM
236
O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s
e
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
A
partir da dcada de 1980, a luta de am-
bientalistas e cientistas pela proteo
da Mata Atlntica comeou a gerar
resultados em diversas reas, tais como aprova-
o de novas e mais rgidas leis e regulamentos,
criao de rgos federais, estaduais e municipais
de meio ambiente, criao de novas unidades de
conservao e iniciativas de recuperao e uso
sustentvel dos recursos forestais, principalmente
por parte de organizaes no-governamentais
(ONGs) e de alguns proprietrios de terras. Essa
nova realidade propiciou tambm um aumento nas
pesquisas, o que tem gerado constantes avanos,
como a descoberta de muitas espcies, proteo
das que esto ameaadas e novos usos para a
biodiversidade.
Esse conjunto de iniciativas e projetos vem
sendo implementado pelo governo federal, esta-
dos, municpios, ONGs, instituies acadmicas
e privadas. O estudo Quem faz o que pela Mata
Atlntica 1990-2000 (Rede de ONGs da Mata
Atlntica, Conselho Nacional da Reserva da
Biosfera da Mata Atlntica, Instituto Socioam-
biental e WWF-Brasil 2004) cadastrou 747
projetos, dos quais 47,18% executados por ONGs,
20,77% por rgos pblicos municipais e os de-
mais por organizaes governamentais estaduais,
federais e por instituies de pesquisa e iniciativa
privada.
Atualmente, somam-se a essas iniciativas e
projetos o aprimoramento da legislao protetora,
o fortalecimento de instituies governamentais e
no-governamentais, a vigilncia da imprensa e da
sociedade, bem como o aumento do conhecimento
cientfco sobre a biodiversidade e importncia da
Mata Atlntica. Juntos, representam um importante
avano na conservao dos atuais 7,8% de rema-
nescentes, contribuindo na busca do desmatamento
zero e abrindo uma perspectiva para se iniciar um
processo de recuperao mais efetivo do bioma.
A seguir, so apresentados alguns desses
avanos cientfcos e iniciativas voltadas recu-
perao e uso sustentvel por parte de governos,
iniciativa privada e organizaes no-governa-
mentais, alm de casos de integrao entre essas
vrias instncias, como o caso da Reserva da
Biosfera da Mata Atlntica. So exemplos de
oportunidades que podem, e devem, ser utilizadas
como incentivo e fonte de inspirao para orga-
nizaes, administradores pblicos, empresas e
cidados interessados em viver em um planeta
mais saudvel e com melhor qualidade de vida
para todos.
Cincia
Paran
Artigos cientfcos
A Fundao O Boticrio de Proteo Natu-
reza organiza, em conjunto com a Rede Pr-Uni-
dades de Conservao, o Congresso Brasileiro de
Unidades de Conservao. Trata-se de um evento
bienal, cuja primeira edio foi em 1997, que tem
se consolidado como o maior evento sobre o tema
na Amrica Latina. Na sua quarta edio, ocorrida
em Curitiba, em 2004, o Congresso reuniu cerca
de 1.800 participantes de diferentes regies do
Tecnologia usada em prol da conservao
Mata Cap8.indd 236 2/23/06 11:47:21 PM
237
O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s
e
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
Brasil e de outros pases das Amricas, onde fo-
ram discutidos um pouco da histria, da situao
atual e das perspectivas futuras das unidades de
conservao no Brasil.
Como parte da programao desse evento,
so apresentados trabalhos tcnico-cientfcos,
selecionados por um grupo de colaboradores
voluntrios com reconhecida expertise no tema,
que resulta na publicao de um livro com os
artigos selecionados na ntegra, compondo o
maior conjunto de informaes e contribuies
ao conhecimento das unidades de conservao
do Brasil.
Na rea do Domnio da Mata Atlntica, foram
publicados 181 artigos, considerando os quatro
eventos ocorridos da srie, sendo a maioria (53%)
realizados em unidades de conservao localiza-
das na rea de ocorrncia da foresta ombrfla
densa. Cerca de 23% dos artigos publicados foram
realizados em unidades localizadas na foresta
estacional semidecidual/decidual, tanto em reas
de contato com outras formaes forestais como
nas regies de contato com o Cerrado. Unidades
de conservao englobando os ecossistemas cos-
teiros foram abordadas em aproximadamente 16%
dos trabalhos publicados, enquanto na foresta
ombrfla mista foram apresentados somente 13
artigos, o que representa cerca de 7% do total.
Em termos de representatividade regional das
reas tratadas nesses artigos, h um predomnio
de trabalhos realizados em unidades de conser-
vao localizadas no Sudeste e Sul do Brasil,
notadamente nos estados de So Paulo, Rio de
Janeiro e Paran.
Conhea mais: http://internet.boticario.com.
br/portal/site/fundacao/
Macuquinho-da-vrzea
Totalmente desconhecido pela cincia, o
macuquinho-da-vrzea (Scytalopus iraiensis)
foi descoberto em 1997 por pesquisadores da
ONG Mater Natura, habitando reas das bacias
hidrogrfcas dos rios Iguau e Tibagi, prximas
regio metropolitana de Curitiba. O pequeno
pssaro de 12 gramas sobreviveu em apenas 24
locais de maior altitude, depois da formao do
reservatrio da Barragem do Ira que alagou sua
principal rea de ocorrncia.
Ao ser encontrada j em situao seriamente
ameaada de extino, a ave tornou-se um smbolo
da campanha de educao ambiental do municpio
de Pinhais, Paran. A histria de sua descoberta
nas vrzeas marginais aos rios contada no livro
Por um sonho real e numa pea de teatro levada
a vrias escolas. Mais de 3 mil alunos de primeira
quarta srie, em treze escolas e creches, j ouvi-
ram as lies ambientais do macuquinho.
O objetivo tem sido mostrar para crianas e
jovens que o macuquinho-da-vrzea est amea-
ado porque seu hbitat vem sofrendo diversos
impactos, como a extrao de areia do subsolo,
loteamentos, drenagens, formao de pastagens
e o fogo. J o aspecto do animal, com plumagem
preta no dorso e cinza no ventre, alm do canto
que consiste na repetio de uma nica nota por
at onze minutos, so revelados como forma de
despertar o afeto das crianas pelo animal, esti-
mulando a proteo ambiental.
Conhea mais: www.maternatura.org.br
Macuquinho-da-vrzea
F
o
t
o
:
M
a
r
c
o
s
B
u
r
c
h
a
i
s
e
n
Mata Cap8.indd 237 2/23/06 11:47:24 PM
238
O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s
e
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
Rio Grande do Sul
Estudo constata raridade de
espcie arbrea*
Pesquisa realizada pelo Ncleo Socioam-
biental Ara-piranga constatou a extrema rari-
dade da espcie arbrea ara-piranga (Eugenia
multicostata). Com ocorrncia exclusiva na Mata
Atlntica, a espcie consta da Lista de Experts em
Gentica, da Organizao das Naes Unidas para
a Agricultura e a Alimentao (FAO).
A planta possui importncia histrica, pois
seu nome fgura como denominao de diversas
localidades, entre elas o municpio de Sapiranga,
no Rio Grande do Sul. Alm disso, seu tronco teve
grande utilidade madeireira, na construo dos
eixos de rodas dgua, no perodo colonial. Seu
fruto tem tamanho superior mdia existente na
Mata Atlntica e chega a atingir de 5 a 7 cm de
dimetro, alm de ser comestvel e saboroso.
Ara-piranga um dos nomes comuns de
Eugenia multicostata Legr. que foi dado pelos pri-
meiros residentes da regio de Sapiranga, os ind-
genas Caigangues. A sua provvel abundncia na
regio levou os primeiros colonizadores alemes
a referir-se ao atual municpio como As Terras
de Sapiranga. Esse nome foi signifcativo pois
serviu de referncia para delimitao de terras na
regio, conforme consta nos registros do Arquivo
Histrico do Rio Grande do Sul (1870).
Segundo Wingert e Wermller, moradores
do interior do municpio de Sapiranga, o ara-
piranga teve utilidade como eixo de rodas dgua
devido ao seu tronco reto, cilndrico e de madeira
muito resistente, e ainda no uso de cunhas de
madeira para a regulagem de moinhos de farinha.
O fruto parece-se como o da pitanga, porm de
tamanho maior, variando entre 3 a 5 cm de di-
metro, sendo as costas profundas e sulcadas.
uma espcie tpica da foresta ombrfla densa e
sua distribuio geogrfca abrange os estados de
Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
possvel determinar que o ara-piranga
deve ser considerada uma espcie chave e pode-
se resumir sua caracterstica ecolgica para
um tipo de hbitat essencialmente forestal, de
estgio sucessional avanado para clmax. Com
base nos dados coletados, possvel determinar
no estado do Rio Grande do Sul um novo limite
oriental e setentrional para a espcie, bem como
estabelecer a atual rea geogrfca e o respectivo
limite fsico.
A espcie pode ser utilizada como refern-
cia para implementar corredores ecolgicos que
tenham por objetivo conectar ecossistemas signi-
fcativos, bem como permitir o fuxo gnico desse
tipo de comunidade. Alm disso, tem importante
funo quando for necessrio identifcar ecossiste-
mas conservados em forma de mosaicos, incluin-
do-se como prioritrios para sua conservao.
O ara-piranga foi acrescido na lista de
espcies ameaadas de extino da FAO (2001),
caracterizada como de extrema prioridade e ex-
tremamente rara, sendo reconhecida como de uti-
lizao para madeira industrial, para alimentao
humana e de carter medicinal. Esses aspectos
reforam a necessidade de estudos da distribuio
e variabilidade gentica das populaes de ara-
piranga no Brasil.
*Lus Fernando Stumpf, bilogo, coordenador
da ONG Ara-Piranga
Conhea mais: http://www.raufer.com.br/
arasapiranga
So Paulo
Bicudinho-do-brejo-paulista
O trabalho de manejo e resgate da fauna nos
arredores dos municpios de Biritiba Mirim e
Paraitinga, para a construo de duas barragens
da represa Paraitinga, trouxe mais uma descoberta
para o meio ambiente paulista. O pesquisador
Mata Cap8.indd 238 2/23/06 11:47:24 PM
239
O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s
e
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
Lus Fbio Silveira, pesquisador do Departamento
de Zoologia do Instituto de Biocincias da Uni-
versidade de So Paulo (USP), confrmou ali a
presena de uma nova espcie de pssaro, com o
nome cientfco de stymphalornis sp.nov e o nome
popular de bicudinho-do-brejo-paulista.
Por viver em reas de brejo ameaadas e
muitas j alagadas pelo empreendimento do De-
partamento de gua e Energia do Estado de So
Paulo (DAEE), a nova espcie dever ser includa
na lista dos animais em extino. As prprias ca-
ractersticas do animal, com aproximadamente 8
gramas, colorao acinzentada e pouca vocaliza-
o, permitiram que ele passasse desapercebido
frente a outras espcies mais vistosas e se adaptas-
se s modifcaes comuns do ambiente de brejo
com taboais, um tipo de vegetao aqutica. Ainda
assim, a espcie se encontra bastante reduzida e
o pesquisador da USP coletou o maior nmero
possvel de animais (cerca de 72 exemplares) para
solt-los em localidades prximas com ecossiste-
mas semelhantes, antes do alagamento.
As ameaas do desmatamento e da cons-
truo de grandes empreendimentos na regio
afetam, principalmente, os mananciais que abas-
tecem a Grande So Paulo, j que ali se localizam
as cabeceiras do Rio Tiet, cuja proteo refete
na qualidade da gua fornecida metrpole. Para
o analista ambiental do setor de Fauna do Ibama,
Carlos Yamashita, a presena de animais como
o bicudinho-do-brejo-paulista um indicador da
sade do ambiente e conseqentemente da quali-
dade de seus recursos hdricos.
Conhea mais: http://www.ibama.gov.br/sp/
index.php?id menu-24&id arq=33
Jararacas ilhoas
Desde a dcada de 20 do sculo passado,
cientistas do Instituto Butantan fazem viagens
Ilha da Queimada Grande. O principal foco de in-
teresse das pesquisas a jararaca ilhoa (Bothrops
insulares), espcie endmica e com caractersticas
muito peculiares. Atualmente, tambm se reali-
zam expedies para Alcatrazes, onde a ateno
voltada para a jararaca-de-alcatrazes (Bothrops
alcatraz), cujas opes evolutivas diferenciadas
deram origem a uma espcie nica.
A jararaca ilhoa foi descrita em 1921 pelo
herpetlogo Afrnio do Amaral (1894-1982),
do Instituto Butantan. Muitas das caractersti-
cas, como veneno e hbitos, so uma resposta
adaptativa s condies ambientais na Queimada
Grande. Ao contrrio da maioria das jararacas do
continente, cujos adultos caam principalmente
roedores, os adultos da ilhoa se alimentam so-
bretudo de aves. A nova dieta, necessria pela
inexistncia de pequenos mamferos terrestres
(roedores, marsupiais) na ilha, imprimiu espcie
ainda outras caractersticas interessantes, como
a ao do veneno, cinco vezes mais potente para
matar uma ave que o da jararaca comum.
Com o mesmo problema da jararaca ilhoa
falta de roedores na ilha , a jararaca-de-
alcatrazes encontrou soluo diferente: passou
a caar invertebrados (principalmente lacraias
e centopias) e pequenos anfbios, alimento das
jovens jararacas do continente. Talvez por esse
motivo, tambm fcou do tamanho das juvenis,
ou seja, virou an. Um exemplar adulto atinge, no
mximo, 50 centmetros, enquanto a continental
pode chegar a 2 metros. A jararaca ilhoa fca entre
as duas, com at 1 metro de comprimento.
Embora tenha sido encontrada j na expe-
dio do Museu de Histria Natural em 1920,
a jararaca-de-alcatrazes foi descrita e batizada
apenas em 2002 pelos pesquisadores Otvio A.V.
Marques, do Instituto Butantan; Mrcio Martins,
da Universidade de So Paulo; e Ivan Sazima, da
Universidade de Campinas.
Alm de ter sido descrita h mais tempo,
a observao da jararaca ilhoa facilitada para
os cientistas por contar com uma das maiores
Mata Cap8.indd 239 2/23/06 11:47:25 PM
240
O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s
e
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
densidades de serpentes conhecidas no mundo,
estimada em pelo menos 2.000 indivduos. So
tantas cobras, que os pesquisadores chegam a
deparar at sessenta delas em um s dia, enquanto
da jararaca-de-alcatrazes encontram, em mdia,
trs por dia, nmero semelhante ao revelado em
estudos de jararacas do continente na Mata Atln-
tica nas ltimas dcadas.
O Butantan est testando a efcincia e as
diferenas do veneno dessas espcies. Entre os
resultados j encontrados, est que o veneno da
ilhoa jovem mais ativo em invertebrados e me-
nos em roedores. Quando adulta, a composio
muda e o veneno se torna muito ativo em aves.
Todo esse interesse se justifca porque cada subs-
tncia identifcada pode resultar em um remdio
importante. O veneno da jararaca do continente,
por exemplo, deu origem a medicamentos como
o anti-hipertensivo Captopril (ansioltico), cujo
nome foi patenteado por uma multinacional e o
Evasin, patenteado por pesquisadores do Instituto
Butantan. Por meio de um contrato com a Fun-
dao de Amparo Pesquisa do Estado de So
Paulo (Fapesp), o Instituto Butantan mantm uma
equipe dedicada a isolar princpios ativos, na qual
o pesquisador fca com 30% da patente.
Conhea mais: www.butantan.gov.br
Nova espcie da famlia das canelas
Um esforo comum entre diversas institui-
es de pesquisa do estado de So Paulo inten-
sifcou a coleta de materiais botnicos no Estado
e permitiu ao Instituto Florestal identifcar uma
nova espcie de rvore da Mata Atlntica. Trata-se
de uma rvore com at 17 metros de altura perten-
cente famlia Lauraceae, a famlia das canelas,
a qual pertence tambm a imbuia, o abacate, a
canela-preta, entre outras.
At o momento, os cientistas reconhecem
a presena da nova espcie num polgono de
Mata Atlntica delimitado pela Estao Bio-
lgica de Boracia, Parque Estadual da Serra
do Mar Ncleos Cunha e Picinguaba, Parque
Estadual de Carlos Botelho, Tapira e Pariquera-
Au, totalizando uma rea aproximada de 28 mil
quilmetros quadrados. A rea de ocorrncia den-
tro de Unidades de Conservao j garante um grau
de proteo diferenciado para a espcie, mas para
sua ofcializao perante a comunidade cientfca
necessria a publicao de um artigo em revista
internacional, com uma descrio em Latim.
A descoberta tambm revela a lacuna de
conhecimento sobre a diversidade forstica dos
biomas paulistas. Nos ltimos anos, j foram
descobertas outras trs novas espcies da mesma
famlia Lauraceae, duas na Mata Atlntica do Es-
prito Santo e a outra em So Paulo, especialmente
no Parque Estadual da Serra do Mar.
Conhea mais: www.iforestsp.br
Sapo reencontrado
Um grupo de pesquisadores do Museu de
Zoologia da Universidade de So Paulo (USP)
redescobriu no interior do Estado o sapinho Para-
telmatobius gaigeae, de apenas alguns centmetros,
considerado extinto desde a dcada de 1930. O
trabalho faz parte de um levantamento da fauna de
animais vertebrados que habita a Estao Ecolgica
de Bananal e descobriu tambm duas possveis
novas espcies no local, um anfbio e um rptil.
Morador da Mata Atlntica, o P. gaigeae foi
retratado seis dcadas atrs pelo mdico brasileiro
Adolpho Lutz, que recolheu dois espcimes em
1931 na Fazenda do Bonito, na Serra da Bocaina,
na divisa entre o Rio e So Paulo, e pintou retratos
de seu dorso e da barriga vermelha. Foi com base
nessas pranchas coloridas que a espcie foi descri-
ta em 1938, mas depois os exemplares sumiram,
assim como o sapo na natureza.
Mata Cap8.indd 240 2/23/06 11:47:25 PM
241
O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s
e
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
Reencontrada, a nova populao da espcie
j considerada ameaada de extino, principal-
mente porque a Estao Ecolgica praticamente
uma ilha, com seus 884 hectares de Mata Atlntica
cercados, de um lado, por uma rea plantada de
pinus quatro vezes maior do que a unidade de
conservao e, do outro, por uma regio devas-
tada, primeiro pela plantao de caf, depois pela
explorao da madeira que alimentava com carvo
a indstria siderrgica.
O trabalho coordenado pelo curador da
coleo de Herpetologia do Museu, Hussam
Zaher e j identifcou mais de 70 espcies no
local desde dezembro de 2003, lista que no pra
de crescer.
Conhea mais: www.mz.usp.br
So Paulo e Mato Grosso
do Sul
Cervo-da-mata-atlntica*
A articulao entre Ministrio Pblico, com-
panhia energtica, ONG e instituies de pesquisa
pode trazer de volta o cervo-do-pantanal (Blasto-
cerus dichotomus) para o bioma Mata Atlntica.
De ocorrncia original em quase toda a Amrica
do Sul, o maior cervdeo brasileiro est reduzido a
pequenas populaes em alguns tributrios e rios
da bacia do Rio Paran, parte da qual includa nos
limites do Decreto 750/93 que defne legalmente
os domnios da Mata Atlntica.
Pesquisa da Embrapa Pantanal, com o apoio
da Companhia Energtica de So Paulo (CESP)
e Fundao Dalmo Giacometti indicam que as
ltimas populaes remanescentes do cervo, fora
do Pantanal Mato-grossense, so cerca de 103
indivduos no Rio Correntes e tributrios, em
Gois, 350 indivduos na rea de infuncia da
usina hidreltrica de Porto Primavera, entre So
Paulo e Mato Grosso do Sul, e 1.550 indivduos
nas vrzeas do Parque Estadual de Ivinheima e
Parque Nacional de Ilha Grande, na divisa dos
estados do Paran e Mato Grosso do Sul.
Construo de barragens, drenagem de reas
midas, assoreamento de canais de rios e vrzeas,
pastoreio de gado, queimadas, diques, estradas e
extrao de argila so apontados pelos pesquisa-
dores como as principais causas da degradao de
hbitats dos cervos-do-pantanal. A pesquisa vai
ajudar na elaborao de um plano de conservao
da espcie na rea de infuncia de Porto Prima-
vera, que teve mais de 1.000 indivduos afetados
com a construo da usina hidreltrica Engenheiro
Srgio Motta, no fnal dos anos 1990.
Em So Paulo, onde na dcada de 1980, o
cervo era encontrado nas regies de Promisso e
Pereira Barreto, no Rio Tiet, na Reserva Florestal
da Lagoa So Paulo e nas plancies de inundao
do Rio Paran, a pesquisa ganhou aliados so a
Procuradoria da Repblica, o Ministrio Pblico
Estadual e a ONG Apoena, que propuseram a
criao dos parques estaduais dos rios do Peixe e
Aguape, onde sobrevivem as ltimas populaes
viveis de cervo-do-pantanal no Estado.
No sudeste do Mato Grosso do Sul, onde a
Mata Atlntica inicia a transio para o Cerrado,
pesquisadores e ambientalistas esto defendendo
a anexao de novas reas protegidas RPPN
Cisalpina, com o aproveitamento das vrzeas do
Rio Verde, a criao de unidade de conservao
na confuncia dos rios Pardo e Inhandu, alm
de recuperao de hbitats, manejo adequado
Cervo-
da-mata-
atlntica
F
o
t
o
:
P
e
t
e
r
M
i
x
Mata Cap8.indd 241 2/23/06 11:47:29 PM
242
O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s
e
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
das unidades existentes e monitoramento da po-
pulao a longo prazo. Utilizando o cervo como
espcie-bandeira para a conservao das vrzeas
da Mata Atlntica, esperam conseguir um mosaico
de reas protegidas na bacia do Rio Paran
* Djalma Weffort, jornalista, presidente da
Associao em Defesa do rio Paran, Afuentes
e Mata Ciliar (Apoena)
Conhea mais: www.apoena.org.br;
www.cesp.com.br; www.embrapa.gov.br
Governos
A situao crtica em que se encontram os
remanescentes das formaes forestais e ecossis-
temas associados e toda a rica biodiversidade da
Mata Atlntica somente despertou a ateno dos
setores pblicos brasileiros, de forma mais efetiva
e proativa, nas ltimas duas dcadas.
No mbito do Ministrio do Meio Ambiente
destacam-se iniciativas visando o aperfeioamento
da legislao, instituio de projetos e programas
para apoiar aes de conservao e recuperao
do bioma e ampliao do nvel de parcerias e
participao das instituies da sociedade civil.
Sobre o aperfeioamento da legislao,
o Ministrio do Meio Ambiente vem h anos
acompanhando e trabalhando junto ao Congresso
Nacional pela aprovao do PL Mata Atlntica
(PL 3285/92), de autoria do Deputado Fabio
Feldmann, aprovado por unanimidade na C-
mara Federal em 3 de dezembro de 2003 e que
atualmente tramita no Senado aguardando votao
daquela casa.
Mata Atlntica: ao do governo necessria e
urgente
Houve tambm avanos em Resolues do
Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama),
como a 278/01, que suspendeu temporariamen-
te as autorizaes para corte e explorao de
espcies ameaadas de extino, constantes da
lista ofcial do Ibama (Portaria n 37-N/92), em
populaes naturais no bioma. Ainda no mbito
do MMA, a edio da Instruo Normativa MMA
n 8/04, sobre colheita e transporte de espcies
forestais nativas plantadas, estabelece a obrigao
de vistoria de campo para comprovar o efetivo
plantio, antes da concesso de autorizao de
corte e transporte.
A participao de setores governamentais e
no governamentais na discusso de aes, pol-
ticas e programas para o bioma foi ampliada com
a criao do Grupo de Trabalho (GT) da Mata
Atlntica, institudo pela Portaria 221, de 9 de
Reunio do
GT Mata
Atlntica
Mata Cap8.indd 242 2/23/06 11:47:53 PM
243
O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s
e
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
maio de 2003, integrado pelas seguintes institui-
es governamentais e da sociedade:
I dois representantes dos seguintes rgos e
entidades:
a) do Ministrio do Meio Ambiente, que o coor-
denar;
b) da comunidade cientfca, indicados pela So-
ciedade Brasileira para o Progresso da Cincia
(SBPC), sendo um da rea das cincias biolgicas
e um da rea das cincias humanas;
c) do setor empresarial, sendo um indicado pela
Confederao Nacional da Indstria e um pela
Confederao Nacional da Agricultura.
II um representante de cada rgo e entidades
abaixo indicados:
a) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovveis (Ibama);
b) do Instituto de Pesquisa Jardim Botnico do
Rio de Janeiro (JBRJ);
c) do Ministrio da Agricultura e do Abasteci-
mento;
d) do Ministrio da Cincia e Tecnologia;
e) do Ministrio do Desenvolvimento Agrrio;
f) da Associao Brasileira de Entidades de Meio
Ambiente (Abema);
g) da Associao Nacional dos Municpios e Meio
Ambiente (Anamma);
h) do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera
da Mata Atlntica (CNBRMA);
i) de organizaes indgenas da Mata Atlntica;
j) de comunidades de pescadores artesanais da
Mata Atlntica;
l) de organizaes de comunidades quilombolas
da Mata Atlntica.
III trs representantes ambientalistas indicados
pela Rede de ONGs da Mata Atlntica, sendo:
a) um da Regio Nordeste;
b) um da Regio Sudeste;
c) um da Regio Sul/Centro Oeste.
Este GT tem exercido importante papel no
sentido de contribuir com a discusso e proposio
das prioridades a serem observadas pelo Minist-
rio do Meio Ambiente.
Sobre projetos e programas voltados a apoiar
aes de conservao e recuperao da Mata
Atlntica importante mencionar o pioneirismo
do Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA),
criado pela Lei 7.797/89, e que, desde ento, j
apoiou centenas de projetos descentralizados na
Mata Atlntica e tambm nos demais biomas
brasileiros.
No mbito dos estados, uma das principais
iniciativas so os projetos bilaterais, desenvolvi-
dos pelos estados de So Paulo, Paran, Santa Ca-
tarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas
Gerais, que contam com a cooperao fnanceira
e tcnica do governo da Alemanha, atravs do
Banco KfW e da Agncia de Cooperao Alem
(GTZ). Esses projetos tm como foco principal a
implantao de unidades de conservao estaduais
e o monitoramento e fscalizao dessas unidades
e do seu entorno.
Projetos federais
Projetos Demonstrativos do PPG7
Uma das primeiras iniciativas do Ministrio
do Meio Ambiente visando a proteo e recupera-
o da Mata Atlntica ocorreu em 1992, quando,
no mbito das negociaes com o G7 (Grupo dos
sete pases mais ricos do Planeta), o Governo
brasileiro, atendendo reivindicao da sociedade
civil, incluiu a Mata Atlntica no Programa Piloto
para a Proteo das Florestas Tropicais do Brasil
(PPG7). O Programa Piloto, iniciado efetivamen-
te em 1995, teve seu foco maior na Amaznia,
reservando, no entanto, parte dos recursos do
Subprograma Projetos Demonstrativos (PDA)
para a Mata Atlntica.
Em sua primeira fase, o PDA apoiou 47
projetos descentralizados na Mata Atlntica,
Mata Cap8.indd 243 2/23/06 11:47:54 PM
244
O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s
e
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
executados por organizaes da sociedade civil,
investindo um total aproximado de 6 milhes de
dlares do subprograma e 3,2 milhes de dlares
de contrapartida dos executores.
Esses projetos geraram importantes resul-
tados e lices de conservao e recuperao da
Mata Atlntica. Um dos principais legados dessa
primeira fase do PDA foi o fortalecimento insti-
tucional das organizaes executoras e o aumento
da massa crtica e capacidade executora de pro-
jetos por parte dessas organizaes da sociedade
civil. O PDA tambm proporcionou uma maior
articulao e parcerias entre as instituies da so-
ciedade civil organizada e entre estas e os rgos
governamentais. O Governo Alemo atravs do
Banco KfW o principal doador do PDA, que
conta ainda com a cooperao tcnica da Agncia
de Cooperao Tcnica Alem (GTZ).
Plano de Ao da Mata Atlntica
Desde o incio das negociaes do PPG7, a
sociedade civil reivindicou, principalmente atra-
vs da Rede de ONGs da Mata Atlntica, maior
participao do bioma no Programa Piloto. Em
1998, o Ministrio do Meio Ambiente promo-
veu um Seminrio Nacional onde foi discutido
o Plano de Ao da Mata Atlntica, o qual foi
aprovado em outubro de 1999 pelos seus partici-
pantes (doadores, Governo brasileiro, sociedade
civil e Banco Mundial), como subsdio para a
elaborao do Subprograma Mata Atlntica no
mbito do PPG7.
Subprograma Mata Atlntica
Tendo como base de discusso o Plano de
Ao da Mata Atlntica, o Subprograma Mata
Atlntica do PPG7 foi elaborado sob a coorde-
nao do Ncleo dos Biomas Mata Atlntica e
Pampa da Secretaria de Biodiversidade e Florestas
do Ministrio do Meio Ambiente, num amplo
processo de consulta e participao, envolvendo
os setores governamentais e no governamentais,
acadmico, empresarial, doadores internacionais
e Banco Mundial, em trs seminrios: Braslia
(DF) 28 de julho de 2000; Salvador (BA) 11
e 12 de setembro de 2000; e So Paulo (SP) 25
e 26 de setembro de 2000.
A proposta, no valor global de 115 milhes
de dlares, foi aprovada pela Comisso de Co-
ordenao Brasileira do PPG7 (CCB) em 26 de
janeiro de 2001 e pela Comisso de Coordenao
Conjunta (CCC) em 8 de fevereiro de 2001. Com
a aprovao na CCB e CCC, o Subprograma Mata
Atlntica tornou-se a referncia para o MMA
iniciar a captao dos recursos necessrios sua
implementao.
O Subprograma Mata Atlntica tem como
base estruturadora as Diretrizes para a Poltica de
Conservao e Desenvolvimento Sustentvel da
Mata Atlntica, aprovadas pelo Conselho Nacio-
nal do Meio Ambiente (Conama) em dezembro
de 1998, o Plano de Ao para a Mata Atlntica
(1998) e as Aes Prioritrias para a Conservao
da Biodiversidade da Mata Atlntica e Campos
Sulinos (Probio/Pronabio, 1999).
Os objetivos do Subprograma Mata Atlntica
visam: a) assegurar a conservao da biodiver-
Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e
coordenador do Ncleo Mata Atlntica, Wigold
Schffer
Mata Cap8.indd 244 2/23/06 11:48:12 PM
245
O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s
e
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
sidade da Mata Atlntica, reduzindo signifca-
tivamente o seu processo de empobrecimento,
atravs da ampliao das unidades de conservao
e reduo drstica do desmatamento ilegal; b)
promover o desenvolvimento sustentvel, assegu-
rando a utilizao dos recursos naturais de forma
ecologicamente sustentvel e socialmente justa,
contribuindo signifcativamente para a reduo
do processo de empobrecimento cultural na Mata
Atlntica; c) promover a recuperao de reas
degradadas da Mata Atlntica.
Projeto Mata Atlntica
O Projeto Mata Atlntica, iniciado em 2004
com o apoio financeiro do Banco Mundial e
cooperao tcnica da Organizao das Naes
Unidas para a Agricultura e Alimentao (FAO),
tem como objetivo apoiar aes de planejamento,
implementao e acompanhamento das polticas
para a Mata Atlntica em nvel nacional no mbito
do Ministrio do Meio Ambiente.
As principais aes em execuo so: a) ela-
borao, tendo como base o Subprograma Mata
Atlntica do PPG7, de um Programa Nacional
para a Mata Atlntica e promoo de atividades
de captao de recursos para projetos e aes nos
biomas Mata Atlntica e Pampa. Esse Programa
dever potencializar as iniciativas federais, esta-
duais e da sociedade em todo o bioma; b) atuali-
zao e complementao das informaes sobre
reas prioritrias para a conservao, utilizao
sustentvel e repartio dos benefcios da biodi-
versidade dos biomas Mata Atlntica e Pampa; c)
apoio a organizao de eventos e campanhas pela
conservao dos biomas Mata Atlntica e Pampa,
em parceria com organizaes de sociedade civil;
d) acompanhamento da tramitao do Projeto de
Lei da Mata Atlntica (PL 3.285/92) no Senado
Federal; e) apoio aos estudos para criao de oito
novas unidades de conservao na foresta om-
brfla mista nos estados do Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e Paran; f) apoio aos estudos para
criao e ampliao de unidades de conservao
no Sul, Baixo Sul e Extremo Sul da Bahia e no
Nordeste de Minas Gerais; g) apoio ao estudo para
implementao de corredor ecolgico no Vale do
Rio Pelotas, visando manter o fuxo gnico entre
a calha do Rio Pelotas, seus principais afuentes e
os Parques Nacionais de So Joaquim e Aparados
da Serra; h) elaborao de uma proposta de moni-
toramento participativo da Mata Atlntica.
PDA Mata Atlntica
O PDA Mata Atlntica o primeiro compo-
nente do Subprograma Mata Atlntica a iniciar
sua execuo. Estar investindo em trs anos, a
partir de 2005, 17,69 milhes de euros de doa-
o do Governo da Alemanha atravs do Banco
KfW e aproximadamente 10 milhes de reais de
contrapartida do Ministrio do Meio Ambiente,
em projetos de conservao da Mata Atlntica. O
PDA Mata Atlntica est dividido em Aes de
Conservao de Nvel Nacional e Aes de Nvel
Local ou Regional.
Fora-tarefa de estudos para criao de UCs
Mata Cap8.indd 245 2/23/06 11:48:16 PM
246
O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s
e
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
Aes de conservao de nvel nacional
Essas aes visam alcanar resultados com
efeito em mbito nacional, contribuindo para a
conservao e recuperao de todo o bioma:
a) Implantao de um sistema de monitoramento
participativo da Mata Atlntica em mbito nacio-
nal - Visa fornecer informaes e subsdios para o
estabelecimento de planos de ao de preveno,
controle e combate a desmatamentos ilegais; con-
trole e combate a queimadas e incndios forestais;
intensifcao das aes de monitoramento, con-
trole e fscalizao, reforando as iniciativas dos
rgos pblicos federais, estaduais e municipais
de meio ambiente e das organizaes da socie-
dade civil; e atualizao das informaes sobre
as reas de risco potencial para desmatamentos
e queimadas, bem como reas para a criao de
unidades de conservao.
O Ministrio do Meio Ambiente iniciou um
mapeamento do histrico de uso e ocupao da
terra em reas propostas para criao de novas
unidades de conservao, em reas crticas e em
outras reas de grande importncia para a con-
servao da biodiversidade. Para o mapeamento
inicial dessas reas so utilizadas imagens de
satlite de alta resoluo, as quais so posterior-
mente comparadas com imagens de diferentes
datas visando obter a evoluo histrica do uso
do solo dessas reas. Esse trabalho, que conta
com a parceria do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE), visa implementar um monito-
ramento peridico e sistemtico dessas reas e,
assim, possibilitar a interveno sempre que os
desmatamentos estiverem no incio e no apenas
quando o estrago j estiver feito.
b) Capacitao em gesto de Unidades de Con-
servao - Pretende preparar representantes de
entidades governamentais e da sociedade civil
organizada, com atuao relevante junto unida-
des de conservaos ou zonas de amortecimento,
visando fortalecer a implantao e gesto dessas
UCs de acordo com o previsto no Sistema Nacio-
nal de Unidades de Conservao (SNUC), que
uniformizou a base conceitual referente s reas
protegidas, especialmente no que concerne s
categorias de unidades de conservao nas trs es-
feras de governo (federal, estadual e municipal).
c) Campanha de conscientizao e mobilizao
nacional sobre preservao e conservao da Mata
Atlntica - Pretende trabalhar com a percepo
das pessoas no sentido de difundir a importncia
da preservao, recuperao e desenvolvimento
sustentvel e a necessidade da participao dos
cidados nessas aes de conservao e recupe-
rao do bioma Mata Atlntica.
Estudos para identifcao, valorao e re-
gulamentao dos servios ambientais da Mata
Atlntica e desenvolvimento de mecanismos
fnanceiros inovadores.
Esses estudos pretendem identifcar e valo-
rar os servios ambientais dos remanescentes de
Mata Atlntica, essenciais para a conservao da
biodiversidade, manuteno dos recursos hdricos,
conservao do solo, recreao e lazer, reteno
de sedimentos e regulao do clima. A Mata
Atlntica, por estar localizada em rea de maior
densidade demogrfca do Pas e ter sofrido forte
converso das forestas para outros usos do solo,
faz com que seus pequenos e fragmentados rema-
nescentes forestais exeram papel fundamental
no fornecimento de servios ambientais.
d) Elaborao de planos e implantao de corredo-
res ecolgicos em reas prioritrias estabelecendo
conectividade com reas de preservao perma-
nente e reserva legal em nvel local e regional
- Essa ao pretende apoiar a realizao de planos
de implantao de corredores ecolgicos em reas
crticas da Mata Atlntica e apoiar a implementa-
o de um ou mais corredores que possam servir
de exemplo demonstrativo sobre a viabilidade
Mata Cap8.indd 246 2/23/06 11:48:17 PM
247
O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s
e
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
de constituio dos mesmos. Nos biomas onde
as formaes vegetais naturais apresentem alto
ndice de fragmentao devido ao antrpica,
como o caso da Mata Atlntica, os corredores
ecolgicos so considerados atualmente uma ini-
ciativa de grande importncia para a interligao
entre fragmentos isolados atravs da recuperao
de reas degradadas entre eles.
Aes de nvel local e regional
Essas aes apoiam projetos descentraliza-
dos, elaborados e executados por organizaes da
sociedade civil, sem fns lucrativos, em parceria
com instituies pblicas ou acadmicas:
a) Apoio criao, elaborao de planos de ma-
nejo e implantao de unidades de conservao
estaduais, municipais e privadas.
b) Estudos para ampliao e/ou criao de unida-
des de conservao e outras medidas mitigadoras
de impactos sobre a Mata Atlntica, em reas
crticas de expanso urbana, de fronteira agrcola
e fragmentos forestais.
c) Elaborao de planos e implantao de mi-
cro-corredores ecolgicos em reas prioritrias,
estabelecendo conectividade com reas de preser-
vao permanente e reserva legal em nvel local
e regional.
d) Apoio a estratgias de recuperao de reas de
preservao permanente e da reserva legal.
e) Restaurao e recuperao da cobertura vegetal
nativa e outras medidas mitigadoras do efeito da
fragmentao de habitats em reas prioritrias e
em reas de mananciais e recarga de aqferos.
f) Uso sustentvel dos recursos naturais atravs do
ecoturismo em reas de relevncia ambiental.
Corredor Ecolgico
O Projeto Corredores Ecolgicos, voltado
para o desenvolvimento de aes de proteo e
recuperao dos remanescentes da Mata Atlntica
do Sul da Bahia e do Esprito Santo, envolve uma
parceria do governo federal, governos estaduais
e organizaes da sociedade civil desses estados.
O projeto tem como principais aes a proteo
e implementao de unidades de conservao,
desenvolvimento de novos modelos de uso e
ocupao do solo no entorno das unidades de
conservao, incentivo ao ecoturismo e criao de
Reservas Particulares do Patrimnio Natural.
Atualizao das prioridades de conservao
As reas prioritrias para a conservao, uti-
lizao sustentvel e repartico de benefcios da
biodiversidade da Mata Atlntica foram defnidas
atravs do Projeto de Conservao e Utilizao
Sustentvel da Diversidade Biolgica Brasileira
(Probio), em 1999. Essas reas, juntamente com
as reas prioritrias dos demais biomas brasilei-
ros, foram reconhecidas pelo Decreto Federal
5.092/04, que defniu regras para identifcao
de reas prioritrias para a conservao, utili-
zao sustentvel e repartio dos benefcios da
biodiversidade, no mbito do Ministrio do Meio
Ambiente.
O Decreto estabeleceu ainda que essas reas
sero consideradas para fns de instituio de
unidades de conservao, no mbito do Sistema
Nacional de Unidades de Conservao da Natu-
reza (SNUC), pesquisa e inventrio da biodiversi-
Reunio
do GT
Araucria
Mata Cap8.indd 247 2/23/06 11:48:38 PM
248
O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s
e
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
dade, utilizao, recuperao de reas degradadas
e de espcies sobreexplotadas ou ameaadas de
extino e repartio de benefcios derivados do
acesso a recursos genticos e ao conhecimento
tradicional associado.
Desde 1999, houve signifcativos avanos no
conhecimento sobre a biodiversidade do bioma
tanto por parte de instituies governamentais,
quanto acadmicas e organizaes da sociedade
civil e tambm alteraes das condies ambien-
tais em algumas regies. Neste sentido e visando
atualizar e refnar as prioridades, a Comisso
Nacional de Biodiversidade (Conabio), com apoio
da Secretaria de Biodiversidade e Florestas est
realizando o processo de reviso das reas prio-
ritrias em todo o Pas, trabalho que dever estar
concludo at meados de 2006.
Conhea mais: http://www.mma.gov.br/
So Paulo
Cinturo Verde do Estado de So Paulo
Originada de uma campanha cvica liderada
por diferentes organizaes do Pas e do exterior, a
criao da Reserva da Biosfera do Cinturo Verde
do Estado de So Paulo deu-se em 1994, aps
encaminhamento da proposta do governo de So
Paulo, por meio do Instituto Florestal, ao Comit
Brasileiro do Programa Homem e a Biosfera,
da Unesco. A proposta de criao da reserva foi
aprovada por unanimidade por estar localizada no
entorno da segunda maior cidade do planeta, com
cerca de 10% da populao brasileira e baixssimo
nvel de rea verde por habitante.
Como reas sob responsabilidade da Unesco,
as Reservas da Biosfera apresentam relevante
valor ambiental para a humanidade e representam
um compromisso do governo local em realizar os
esforos e atos de gesto necessrios para pre-
servar essas reas e estimular o desenvolvimento
sustentvel. No interferem na soberania do pas
ao reforar apenas os instrumentos de proteo
legal j consagrados em nvel local. Mas pro-
porcionam estmulos de natureza variada, como
transferncias de tecnologias amigveis ou de
baixo impacto ambiental e recursos fnanceiros.
A Reserva da Biosfera do Cinturo Verde de
So Paulo ocupa uma rea de 17.603 Km
2
em 73
municpios, abrigando reservas biolgicas e par-
ques, como o Parque Estadual da Serra do Mar.
Especifcamente para a Regio Metropolitana de
So Paulo, o Cinturo Verde responsvel por ser-
vios ambientais como a proteo de mananciais
que abastecem a cidade e as cabeceiras e afuentes
de rios que cortam a rea urbana; estabilizao
do clima, impedindo o avano de ilhas de calor
em direo periferia e fltragem do ar poludo;
proteo de reas vulnerveis onde se produzem
chuvas torrenciais, evitando enchentes na malha
urbana, alm de suporte grande parte da produo
de hortifrutigranjeiros que a cidade consome.
Sob administrao do Estado, as reas
corao da Reserva da Biosfera que fecham o
cinturo esto bem estabelecidas pelas seguintes
unidades: Parque Estadual Alberto Lfgren e da
Cantareira, Parque do Jaragu, Reserva Florestal
de Morro Grande, Parque Estadual de Jurupa-
r, Parque Estadual da Serra do Mar e Estao
Ecolgica de Itapeti. Os servios prestados pelo
cinturo verde foram analisados pelo comit da
Avaliao Ecossistmica do Milnio um esforo
que tem envolvido 2 mil cientistas de 95 pases
para realizao de um diagnstico da sade dos
ecossistemas da Terra, at 2007. Eles apuraram,
por exemplo, que reforestar as margens de rios e
reverter o desmatamento do cinturo pode repre-
sentar uma economia de milhes de reais em tra-
tamento de gua, obras de controle de enchentes
e internaes hospitalares.
Estudos sobre o principal servio ambiental
do Cinturo Verde a capacidade de fornecer gua
regio metropolitana mostraram que se a taxa
Mata Cap8.indd 248 2/23/06 11:48:39 PM
249
O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s
e
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
de remoo de forestas permanecer constante, a
Companhia de Saneamento Bsico de So Paulo
(Sabesp) gastar 30% a mais s com carvo ati-
vado para tratar a gua.
Conhea mais: http://www.rbma.org.br/mab/
unesco 03 rb cinturao.asp
Veja tambm: Reserva da Biosfera, pg. 274
Protocolo de soltura de animais
A gerncia do Ibama em So Paulo produziu
um protocolo estadual de orientaes para soltura
de animais silvestres, que muitas vezes era feita
sem muito critrio. Outro problema a difculda-
de de destinao do animal, j que a maior parte
acaba sendo realocada em um local diferente de
onde foi retirada. Para tanto, um outro protocolo
foi elaborado, desta vez para cadastrar reas de
soltura no Estado.
O protocolo de soltura consiste em uma srie
de perguntas a serem respondidas, que determina-
ro os procedimentos a serem adotados. A primei-
ra delas o tipo de soltura que ser feita. Depois
disso, as perguntas bsicas so: ser que o animal
pode ser solto no local? Ser que essa espcie
ocorre ali? H alimento ou abrigo sufciente? Ele
pode estar levando uma doena para o local? O
local uma rea de conservao?
Alm disso, deve-se saber o perfl ecolgico
do animal, ou seja, conhecer a histria natural da
espcie: o que come, em que tipo de foresta ocor-
re, se uma espcie malevel adaptao, quais
so seus inimigos. Por outro lado, deve-se avaliar
o tamanho da populao dessa espcie residente
no local de soltura, para saber se tem muito ou
pouco. No caso da Mata Atlntica, como a maior
parte dos fragmentos est isolada, a populao
pode estar em franca proliferao, por no ter mais
inimigos naturais, como onas, por exemplo, e o
novo animal estar em desvantagem.
Hoje, 78% dos animais apreendidos no Brasil
tm sido soltos, a maior parte sem nenhum crit-
rio, simplesmente abrindo gaiolas. Para que isso
no ocorra, os animais deveriam ser encaminha-
dos para centros de triagem, para serem avaliados
e depois decidido o melhor destino: cativeiro, vida
livre ou at o sacrifcio (para bichos muito debi-
litados ou mutilados). No entanto, esses centros
so raros. Na ausncia de locais de soltura, todos
esses animais esto condenados ao cativeiro. E
para resolver este problema que o Ibama-SP
est cadastrando reas de soltura, atravs de um
protocolo criado no ano de 2004.
Para se cadastrar, o interessado deve informar
desde porque tem interesse em receber os animais,
at fazer um levantamento com um mapeamento
completo da propriedade e do entorno, incluindo
foto area, levantamento da fauna e da fora e
grau de preservao e presses na rea, como a
vizinhana e ocorrncia de caa, por exemplo.
Conhea mais: www.ibama.gov.br
Iniciativa privada
Bahia
Cacau orgnico da Cabruca
Por um amplo programa de apoio recupera-
o do cacau, cujas lavouras foram contaminadas
Cacau
Mata Cap8.indd 249 2/23/06 11:48:43 PM
250
O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s
e
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
pela vassoura-de-bruxa nas dcadas de 1980 e
1990, o Instituto de Estudos Socioambientais do
Sul da Bahia (IESB) e a Conservao Interna-
cional (CI) frmaram importante parceria com a
Cooperativa de Produtores Orgnicos do Sul da
Bahia a Cabruca - para a produo de cacau
orgnico voltada preservao da Mata Atlntica.
A Cabruca nasceu justamente da necessidade de
suprir a demanda internacional por produtos org-
nicos, fato que levou formao de uma aliana
entre produtores rurais para atender ao volume
exigido nesses mercados.
Hoje, cerca de 50 produtores certifcados
no Corredor Central da Mata Atlntica vendem a
amndoa do cacau, o palmito de aa e de pupunha
e frutas tropicais desidratadas como banana, coco
e mamo. Os cooperados da Cabruca produzem
com base no sistema agroforestal, em que o cacau
e outras espcies agrcolas so cultivados som-
bra de rvores nativas, permitindo a conservao
da foresta.
embutido nos produtos orgnicos. As entidades
tambm tm realizado estudos para o benefcia-
mento do cacau nas propriedades, j que o pro-
cessamento dos subprodutos da amndoa, como
o p, a manteiga e o chamado liquour do cacau,
pode agregar valor ao negcio.
Enquanto no atingem essas etapas da cadeia,
os agricultores tm na agroforesta a principal
ferramenta econmica para a consolidao da co-
operativa. A venda do palmito de aa e pupunha,
por exemplo, torna a marca Cabruca conhecida
no mercado e permite a gerao de renda para
sustentao do sistema orgnico. Com o endivi-
damento provocado pela queda na produo aps
a vassoura-de-bruxa na regio, a presso sobre
os ecossistemas aumentou e a preservao do
meio ambiente passou a depender de alternativas
produtivas para o cacau. Hoje, a venda de frutas
tropicais e de palmito certifcado em supermer-
cados como o Po de Acar transformou-se em
garantia para a conservao da biodiversidade da
Mata Atlntica.
Conhea mais: www.cabruca.com.br
Paran
Projeto de Conservao e Educao
Ambiental da Mata do Uru
A araucria, um dos smbolos do Paran,
infelizmente est em extino: hoje, no existem
mais do que 0,8% de remanescentes da cobertura
original em bom estado de conservao. Diante da
trgica situao da Araucria no Paran, no ano
de 2002 a ONG SPVS deu incio Campanha de
Adoo de Florestas com Araucria, com o objeti-
vo de sensibilizar a sociedade para o problema.
O Grupo Positivo foi o primeiro represen-
tante da iniciativa privada a aderir campanha
adotando, em julho de 2003, a Mata do Uru (uma
rea de 135 hectares de foresta com araucria
e campos naturais localizada no municpio da
A produo da amndoa j chega a 200 to-
neladas, sendo vendida para pases como Itlia
e Estados Unidos. Para a comercializao, CI e
IESB auxiliam os cooperados na identifcao
de compradores e na negociao do sobrepreo
Cabruca:
plantio de
cacau na
mata
Mata Cap8.indd 250 2/23/06 11:48:48 PM
251
O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s
e
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
Lapa, no Paran), que integra os cerca de 60 mil
hectares que restaram das forestas com araucria
no Paran.
Rio Grande do Sul
Erva-mate com selo FSC
A conquista da certifcao para o primeiro
produto forestal no-madeireiro da Mata Atln-
tica ocorreu em 2003, com a concesso do selo
do Conselho para o Manejo Florestal conhecido
pela sigla internacional FSC para a erva-mate
produzida em Putinga, Rio Grande do Sul. O
diploma, concedido ao produtor de erva-mate
Eduardo Guadanin, seguiu os Padres de Certi-
fcao de Recursos Florestais No-Madeireiros
da Mata Atlntica, construdos ao longo de mais
de dois anos de trabalho por uma parceria entre
o Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da
Mata Atlntica, Fundao SOS Mata Atlntica,
Instituto de Manejo e Certifcao Florestal e
Agrcola (Imafora), Instituto de Estudos Socio-
ambientais do Sul da Bahia (Iesb) e Fundo para
a Biodiversidade (FUNBIO).
A iniciativa envolveu a consulta s comu-
nidades locais e mapeamento das possibilidades
econmicas de 12 espcies da Mata Atlntica com
potencial para a explorao sustentada, voltada
gerao de renda para os produtores sem impli-
caes para a qualidade ambiental. A certifcao
garante que o processo de produo esteja de
acordo com a legislao e as melhores prticas do
ponto de vista ambiental, social e econmico.
Araucria preservada
A adoo transformou-se no Projeto de
Conservao e Educao Ambiental da Mata
do Uru, uma parceria entre o Grupo Positivo,
a famlia Campanholo (proprietria da rea) e a
SPVS. Na prtica, o Grupo Positivo repassa recur-
sos fnanceiros que garantem a proteo da rea
e o desenvolvimento de atividades de educao
ambiental e pesquisa envolvendo professores e
alunos de educao bsica e ensino superior e
tambm colaboradores da corporao. A SPVS,
por sua vez, a interface entre a famlia e o gru-
po paranaense, pelo acompanhamento tcnico e,
ao mesmo tempo, colabora com a elaborao do
Plano de Uso da rea.
Conhea mais: www.positivo.com.br/
portugues/grupo/resp1.htm
Plantio
de erva-
mate com
araucria
Mata Cap8.indd 251 2/23/06 11:49:31 PM
252
O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s
e
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
Com maior potencial para certifcao, por se
manter no interior da mata preservada em consr-
cio com espcies como a araucria, a erva-mate foi
escolhida como primeira representante do manejo
forestal bem sucedido. Com 95% de sua produ-
o concentrada no Rio Grande do Sul, a espcie
envolve mais de 165 mil propriedades rurais e
emprega hoje, direta e indiretamente, 700 mil
pessoas o equivalente indstria automobilstica
no Brasil. Na propriedade de Eduardo Guadanin,
o produto cultivado h mais de 20 anos dentro
da foresta e possui qualidade superior, com folhas
mais largas e sabor menos amargo, que a plantada
em cultura nica.
A certificao da erva mate proveniente
dos 69 hectares de mata nativa da propriedade
agregou valor ao produto e j resultou em melhor
aceitao pelo mercado, cada vez mais atento aos
produtos livres de agrotxicos. Paralelamente, os
benefcios do selo vm despertando o interesse de
outros agricultores da regio para o cultivo em
consrcio com a mata, enquanto Guadanin passa
a atuar como um multiplicador da conscientizao
ambiental em nvel regional.
Conhea mais: www.sosmatatlantica.org.br;
www. f unbi o. org. br/ publ i que/ web/ cgi /
cgilua.exe/sys/star.htm?infoid=9378sid=21
Santa Catarina
Ativa Rafting
A Ativa Rafting pioneira na implantao do
rafting modalidade de descida de rio com bote a
remo em Santa Catarina e no litoral nordestino.
Com base no turismo ecolgico e de aventura, o
trabalho da Ativa visa despertar o contato com ele-
mentos da natureza, fomentando nos praticantes
dos esportes de aventura a conscincia ecolgica
e os valores de cuidado e preservao do meio
ambiente. Desde 1996, quando se mudou para o
municpio de Apina, s margens do Rio Itaja-
Au, a empresa iniciou o treinamento de guias
locais para a conduo do rafting, trazendo as
primeiras aes sustentveis para a comunidade
de Igaruana. Hoje, a Ativa promove a conserva-
o pela capacitao de membros da comunidade
tambm em municpios da Costa do Dend, em
Morro de So Paulo e Boipeba, estimulando a
preservao da Mata Atlntica pela gerao de
alternativas de renda.
O rafting realizado com turistas e opera-
doras, mas tambm com escolas, universidades,
viagens de incentivo e treinamento empresarial
integrado ao meio ambiente. As modalidades es-
portivas vo do rafting e canyoing a caminhadas
e cicloturismo em diferentes bases, nos estados
de Santa Catarina e Bahia. Grandes expedies
tambm esto a seu encargo, como a Rota Bahia
expedio 4X4 durante trs semanas pelo inte-
rior do Estado e a Expedio Rio Tijucas con-
siderada entre as maiores aventuras de rafting do
Brasil, com dois dias de descida de rio em uma
regio selvagem.
Em 2002, a Ativa recebeu o Prmio Ibest de
melhor empresa de Ecoturismo de Santa Catarina,
como reconhecimento tambm pelo trabalho de
Rapel em cachoeira
Mata Cap8.indd 252 2/23/06 11:49:53 PM
253
O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s
e
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
seu fundador, Otto Friedrich Hassler, que desde
1984 no Brasil tem se dedicado implantao do
rafting e da canoagem, inclusive com descidas
exploratrias de rios e cachoeiras de Santa Cata-
rina, Bahia, Piau, Maranho, Par, Amazonas e
a expedio Pororoca Amap em 2001.
Conhea mais: www.ativarafting.com.br
Colecionador de Nascentes
Carlos Schneider, um empresrio de 77 anos,
da cidade de Joinville, Santa Catarina, atua no
ramo de fabricao de parafusos, criao de bfa-
los, passando pelo setor imobilirio e de shopping
centers. Algum poderia perguntar o que isso tem
a ver com a conservao da Mata Atlntica.
Hoje, com recursos prprios, ele conserva
restingas, forestas densas e campos de altitude.
Um patrimnio que ele considera sagrado.
A histria comeou em 1983, quando ele
adquiriu 290 hectares, entrecortados por alguns
afuentes do Rio Quiriri. Depois, foi comprando
outras reas importantes para preservao da
foresta e das guas. Em menos de duas dcadas,
virou proprietrio de 60% das nascentes do Rio
Quiriri, ou de 17% das guas captadas no Rio
Cubato, para abastecer Joinville, cidade com
500.000 habitantes.
A motivao de Schneider veio numa poca
em que a Mata Atlntica da regio vinha sendo
dizimada por empresas plantadoras de pinus, pela
especulao imobiliria e por agricultores, sem
que o poder pblico se preocupasse com o abas-
tecimento futuro de gua para a Cidade.
O empresrio recorda: Quando eu era
criana, fazamos piqueniques nas margens do rio
Cachoeira. Tomvamos banho, vamos o fundo
do rio; muita gente pescava ali. Algum tempo
depois, j no tinha mais peixes nem se via mais
o fundo. Fui crescendo e vendo isso. Quem per-
corre a rea urbana de Joinville hoje encontra o
rio Cachoeira e seus tributrios com guas turvas
e mal-cheirosas, destino do esgoto domstico e de
dejetos industriais da cidade.
Carlos Schneider um exemplo de algum
que, ao decidir conservar suas propriedades, se
antecipou em relao ao pensamento mdio das
pessoas, em especial dos empresrios, que deve-
riam comear a segui-lo.
Conhea mais: www.vidaverde.org.br
Matas Legais
Parceria indita entre uma empresa do setor
privado, a Klabin Celulose, e uma organizao
no-governamental, a Apremavi, o Programa
Matas Legais tem o objetivo de aumentar as reas
de mata nativa no estado de Santa Catarina, cons-
cientizando pequenos proprietrios rurais sobre a
cerca de 9,4 mil hectares de forestas, que pro-
tegem muitas nascentes dos principais rios da
regio, bem como remanescentes das diferentes
fsionomias vegetais do Domnio da Mata Atln-
tica em Santa Catarina, incluindo manguezais,
Cachoeira
na Serra do
Quiriri
Mata Cap8.indd 253 2/23/06 11:50:15 PM
254
O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s
e
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
importncia do desenvolvimento sustentvel que
leve em conta a qualidade de vida com produti-
vidade e conservao ambiental. Como o Estado
possui a maior parte dos seus 17% de cobertura
original da Mata Atlntica dentro de propriedades
privadas - em geral pequenas propriedades fami-
liares com menos de 50 hectares -, o programa
aposta na parceria com esse pblico para a pre-
servao e recuperao do meio ambiente.
Recuperao de reas de preservao per-
manente e de reserva legal, silvicultura com
exticas e nativas, agricultura orgnica e siste-
mas agroforestais, enriquecimento de forestas
secundrias e ecoturismo esto entre as aes de
desenvolvimento sustentvel a serem implanta-
das para se atingir o sentido da palavra legal do
programa: cumprimento da legislao ambiental
e expresso de um lugar agradvel e de qualidade
para se morar e viver.
Para tanto, as atividades com os produtores
rurais passam por cursos, mutires e palestras,
alm da implantao de propriedades modelo
com assistncia tcnica, visitas de intercmbio e
materiais educativos de difuso e divulgao. O
planejamento da propriedade rural tambm ser
estimulado pelo plantio de forestas nativas em
consrcio com pinus e eucalipto como forma de
garantir uma poupana futura para os agricultores
e, conseqentemente, sua fxao na terra.
Conhea mais: www.apremavi.com.br
So Paulo
Acar orgnico Native
Com a premissa de no alterar o equilbrio
ecolgico nos campos de cultivo e de exercer
impacto social e econmico positivo sobre as co-
munidades onde atua, o Grupo Balbo foi pioneiro
na conquista da certifcao orgnica em reas
de Domnio da Mata Atlntica, ainda em 1997.
O projeto Cana Verde da Native empresa do
Grupo Balbo est entre os maiores de agricultura
orgnica da atualidade e tem como diferencial
sua escala industrial e a participao no mercado
mundial. So cerca de 15 mil hectares de plantio
de cana sem agrotxico que do origem ao acar
Native, vendido no mercado interno e em pases
da Europa, sia e Amrica do Norte.
A passagem do cultivo convencional para o
orgnico ocorreu ainda em 1986 por iniciativa do
diretor do Grupo, Leontino Balbo, que se interes-
sou pelas tcnicas de recuperao da fertilidade
natural do solo e de recomposio da vegetao
original. A certifcao orgnica pela FVO Farm
Verifed Organic (certifcadora norte-americana
credenciada por agncias europias e japonesas)
foi obtida em 1997, garantindo a sustentabilidade
dos sistemas de produo e o carter socioambien-
tal do acar para o consumidor.
Nas usinas onde a produo certifcada,
atingiu-se melhor produtividade que no sistema
tradicional, pois a cana, alm de possuir mais
Bracatinga: boa espcie para plantio
Mata Cap8.indd 254 2/23/06 11:50:20 PM
255
O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s
e
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
folhas, processada crua sem ter que passar pela
etapa da queima. Na safra de 2002, o faturamento
anual da Native havia chegado a 20 milhes de
reais e vem aumentando ano a ano.
Os resultados para a natureza tambm so
animadores, j que o levantamento ecolgico feito
pela Embrapa na rea de cultivo mostrou que a
vegetao nativa, que h quinze anos representava
apenas 5% do terreno, hoje responde por 14%. A
recompensa pelo esforo da empresa veio ainda
com a constatao de que a fauna retornou ao
ambiente, sendo constatada a volta de espcies
de aves, rpteis e mamferos, tanto nos remanes-
centes forestais do entorno como nas reas refo-
restadas pela usina e no prprio campo plantado.
Grandes mamferos como a ona, o lobo-guar e o
veado-catingueiro tiveram sua presena registrada
nas fazendas de cana, por meio de pegadas e pela
prpria observao direta dos pesquisadores.
Conhea mais: www.nativealimentos.com.br
Agroecologia no Vale do Ribeira
Em parceria com a Natura e a Centrofora
Anidro do Brasil, os agricultores do Consrcio
Terra Medicinal (CTM), organizao de agriculto-
res familiares, intensifcaram a produo de plan-
tas de uso tradicional, que podem ser aromticas,
medicinais ou ornamentais, no Vale do Ribeira, e
lanaram o Projeto Caapeba, de coleta e cultivo
da planta Potomorphe umbellata, regionalmente
chamada de caapeba ou pariparoba.
Com oportunidade de gerao de renda adi-
cional para os agricultores familiares do Vale que
necessitam diversifcar suas fontes de renda, o
projeto tem como mrito a valorizao da origem
sustentada das plantas e a conquista de um valor
adicional para o produto como forma de fortalecer
a agricultura familiar. O CTM mapeou ento 17
grupos de agricultores interessados em trabalhar
com as coletas, em municpios como Barra do
Turvo, Juqui, Registro, So Loureno da Serra,
Itariri, entre outros.
J a Centrofora, empresa especializada em
extratos, processa a planta para uso do princpio
ativo concentrado nas folhas frescas. A utilizao
da caapeba para fns cosmticos e medicinais
foi patenteada pela Universidade de So Paulo
(USP), enquanto os direitos de desenvolvimento
de produtos comerciais foi adquirido pela Natu-
ra. Devido ao crescimento lento dos plantios, o
primeiro lote de folhas para 2005 originou-se das
coletas regionais. Mas a partir de 2006, o projeto
prev o suprimento da demanda pelo cultivo da
planta, privilegiando reas onde ela j ocorra
naturalmente
Conhea mais: www.centrofora.com.br
Ecobuchas do Pontal do Paranapanema
Pequenos produtores rurais de assentamen-
to do Pontal do Paranapanema, no oeste de So
Paulo, esto comercializando buchas cultivadas
e benefciadas em ofcinas familiares, recortadas
em forma de animais da regio, como a ona, o
mico-leo-preto ou a anta.
O sucesso da produo no apenas eco-
nmico. O cultivo orgnico e segue princpios
agroforestais que benefciam a prpria fauna
retratada ao intercalar a plantao de buchas
com espcies de rvores nativas. As famlias de
assentados ainda seguem os critrios do comrcio
socialmente justo.
O pioneiro nessa empreitada o assentado
Valentim Messias Degasteri, dono da pequena
fbrica que faz o acabamento das buchas, onde
trabalham quatro pessoas. Atualmente so mais
de dez famlias cultivando e processando a eco-
bucha. A atividade conduzida pelas mulheres e
no interfere nas outras culturas. Com isso, cada
famlia aumentou a renda em 30%.
Mata Cap8.indd 255 2/23/06 11:50:20 PM
256
O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s
e
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
Para a comercializao dos produtos, eles
contaram com a ajuda do Instituto de Pesquisas
Ecolgicas (IP), entidade ambientalista que de-
senvolve projetos na regio, que tem um ncleo
de negcios para capacitar as comunidades.
Conhea mais: www.ipe.org.br
Papel Reciclado no Real ABN Amro Bank*
O mercado e a sociedade brasileira esto
evoluindo exigindo um novo papel de todos,
que devero atuar como fomentadores de uma
sociedade que seja economicamente efciente,
socialmente justa, politicamente democrtica e
ambientalmente sustentvel. Entre diversas inicia-
tivas bem sucedidas do ABN est a implantao
do uso exclusivo de papel reciclado em todas as
atividades da empresa.
A iniciativa culminou com o surgimento de
uma grande parceria entre o Real ABN Amro Bank,
o Instituto Ecofuturo (ONG) e a Cia. Suzano de
Papel e Celulose, para o desenvolvimento de um
papel reciclado que atendesse aos requisitos tcni-
cos das grfcas e usurios das impressoras e aten-
desse aos conceitos de sustentabilidade do banco:
aspectos econmicos e socioambientais. O acordo
proporcionou benefcios a ambos. Por um lado, o
Banco usufruiria todos os benefcios atrelados ao
papel reciclado e seria responsvel por sua ampla
difuso e emprego em todas as suas atividades que
necessitavam originalmente do papel branco. Por
outro lado, a Cia. Suzano se benefciaria no apenas
do grande volume (escala de comercializao e
produo) que o Banco Real traria a esse negcio,
mas tambm da divulgao e comunicao desse
papel para o mercado como um todo.
O resultado dessa parceria foi o desenvol-
vimento de um papel com caractersticas eco-
lgicas e inovadoras: matria-prima reciclada
e processo produtivo menos agressivo ao meio
ambiente (com tratamento qumico sem derivados
de cloro, o que lhe confere uma cor parda). Esse
projeto levou dois anos (de 2002 a 2004) para ser
fnalizado e envolveu aspectos em toda a cadeia
de valor: adaptao dos processos produtivos (j
que se trata de um produto inovador no mercado),
adaptao tcnica do papel s impressoras con-
vencionais e quebra de paradigma por parte de
usurios, alm da organizao da coleta de papis
atravs de cooperativas de catadores.
Essa ao inovadora tem contribudo para a
diminuio signifcativa da quantidade de celu-
lose e, por conseguinte, madeira e rvores, para
a confeco de papel reciclado, uma vez que se
utiliza grande quantidade de papel ps-consumo
(25%) em sua composio.
Parceria resultou em benefcios para as empresas
* Csar Righetti (csar.righetti@br.abnamro.
com), superintendente de Procurement &
Payment do Banco Real/ABN Amro, e Jlio
Francisco Blumetti Fao (juliofaco@gvmail.
br), mestrando e pesquisador da Fundao Ge-
tlio Vargas
Mata Cap8.indd 256 2/23/06 11:50:36 PM
257
O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s
e
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
Sabor de fazenda em plena metrpole
Amante de plantas medicinais e aromticas,
a nutricionista Silvia Jeha resolveu investir na
produo de mudas orgnicas em uma pequena
chcara, de 1.000 metros quadrados. O diferen-
cial, nesse caso, que a propriedade fca a menos
de 10 Km do centro de So Paulo, no meio de uma
minhocultura.
Alm disso, as proprietrias realizam cursos,
prestam consultorias para a confeco de jardins
medicinais e desenvolvem um trabalho com
educao ambiental para crianas, num projeto
chamado Dedinho Verde, onde crianas entre 4
e 11 anos aprendem como fazer compostagem e
minhocultura, recolher e separar o lixo, identifcar
frutas (em um pomar localizado ao lado do vivei-
ro) e fazer o plantio das mudinhas em garrafas
PET, que depois levam para casa.
Conhea mais: www.sabordefazenda.com.br
Reciclando
O Programa de Reciclagem Industrial da
empresa Dutrafer compe-se de coleta, transporte,
comercializao e disposio fnal de todos os ti-
pos de resduos. Para isso, integra-se a reciclagem
industrial com a busca por melhoria da qualidade
de vida e aumento da preocupao com o destino
dos resduos slidos no ambiente, organizando-
se aes de educao ambiental nas indstrias e
nas escolas.
O projeto Reciclando na Escola e na Empresa
consiste em uma equipe de profssionais que sensi-
bilizam o pblico para as questes ambientais por
meio de exposies, palestras e jogos interativos.
Em grandes containers temticos, apelidados de
Ciclo de Reciclveis e Casa Ambiental o pblico
tem acesso a jogos ambientais, biblioteca, teatro
e brindes promocionais como mini-lixeiras de
bolso, camisetas e cartilhas ambientais. De for-
ma dinmica e criativa, incluindo o uso de um
personagem, o Reciclinho, a empresa extrapola
o foco do negcio para atender funcionrios de
indstrias, escolas e comunidades em geral.
As aes de tratamento de resduos e educa-
o ambiental relacionam-se com a preservao
da Mata Atlntica na regio de So Jos dos Cam-
pos, onde a empresa est instalada, na medida em
que ampliam a preocupao com o destino dos
Mudas nativas
zona industrial, no bairro da Vila Maria.
O viveiro Sabor de Fazenda um osis de
verde e sossego, e um exemplo de recuperao
de um pequeno espao urbano: um terreno da
famlia cercado por fbricas e transportadoras.
No espao, criado h quase 12 anos, Silvia e a
irm, Sabrina, produzem 8 mil plantas por ms,
de 90 espcies, com capacidade de estoque de at
15 mil mudas.
A produo, comercializada em lojas de
jardinagem e diretamente no local, certifcada
pela Associao de Agricultura Orgnica (AAO)
e inclui espcies como citronela, alfazema, ale-
crim e erva cidreira. A idia aproveitar tudo no
processo, seja ocupando cada pequeno espao
do terreno ou fazendo compostagem orgnica
dos resduos, para a produo de terra e adubo, e
Mata Cap8.indd 257 2/23/06 11:50:54 PM
258
O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s
e
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
resduos slidos e o compromisso ambiental do
setor privado com a aplicao da coleta seletiva
em seu ambiente industrial.
Conhea mais: www.dutrafer.com.br
Organizaes
No-Governamentais
Alagoas, Pernambuco, Paraba
e Rio Grande do Norte
Recuperao de APPs no Nordeste
Incentivar a criao e a sustentabilidade de
Reservas Particulares do Patrimnio Natural de
Mata Atlntica no Nordeste do Brasil um dos
objetivos do Instituto para Preservao da Mata
Atlntica (IPMA). Fundado em 1996, por um
criador cientfco de aves e duas usinas de a-
car, a entidade j conseguiu criar quatro RPPNs
e protocolar junto ao Ibama mais 26, nos estados
de Alagoas, Pernambuco, Paraba e Rio Grande
do Norte.
Nos ltimos cinco anos foram plantadas mais
de trs milhes de mudas de espcies nativas nas
reas de associados. Ao todo so 36 usinas de
acar e lcool no Nordeste.
A entidade atua junto s usinas recuperando
reas degradadas de encostas e matas ciliares, que
deixaram de ser utilizadas para plantao da cana-
de-acar. Os usineiros foram convencidos de que
recuperando essas reas iriam melhorar a situao
dos recursos hdricos e do ambiente na regio.
Essa relao com a principal atividade eco-
nmica do Nordeste fruto de um amplo projeto
de educao, que engloba a sensibilizao e a
capacitao de professores da rede pblica. J
foram capacitados cerca de 800 professores nos
quatro estados nordestinos em 23 seminrios.
Conhea mais: sac@ipma.org.br
Bahia
Ecoparque de Una
O Ecoparque de Una um projeto demons-
trativo de ecoturismo, localizado em uma pro-
priedade reconhecida como Reserva Particular
do Patrimnio Natural (RPPN), em Una, sul da
Bahia, 45 km ao sul da cidade de Ilhus. uma
parceria do Instituto de Estudos Socioambien-
tais do Sul da Bahia (IESB) com a Conservao
Internacional (CI) e tem como principal objetivo
demonstrar a viabilidade do ecoturismo como
alternativa economicamente vivel e ambiental-
mente correta.
Recuperao de APPs em Alagoas
Ponte suspensa no Ecoparque
Mata Cap8.indd 258 2/23/06 11:51:09 PM
259
O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s
e
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
O sul da Bahia reconhecidamente uma
das reas de maior prioridade para o desenvol-
vimento de projetos conservacionistas, por conta
de sua enorme biodiversidade e elevado grau de
endemismo das espcies encontradas. Trata-se
de uma regio litornea de paisagens naturais
privilegiadas, com vastos manguezais, restingas,
rios, lagoas, cachoeiras, grutas e uma foresta
que, embora muito reduzida em relao enorme
extenso da Floresta Atlntica de outrora, guarda
em seu interior uma riqueza sem igual.
Uma pesquisa sobre o potencial de mercado
do ecoturismo para a regio, realizada em 1994,
demonstrou que existia uma forte demanda por
atividades de lazer ao ar livre, que envolvessem
caminhadas em trilhas e visitas a parques naturais.
Dessa maneira, IESB e CI decidiram implantar
um parque de ecoturismo que evidenciasse a
empresrios e proprietrios de reas naturais o
quanto esta pode ser uma alternativa econmica
e ambiental atraente.
O projeto de implantao do parque teve incio
em fevereiro de 1997, com a construo de uma
passarela pnsil pela copa das rvores, abertura de
uma trilha interpretativa e reforma da estrada de
acesso. A passarela de 23 metros de altura e 100
metros de extenso at hoje a nica desse tipo
instalada no Brasil, permitindo a observao de
bromlias, palmiteiros e outras espcies da fora e
fauna, como preguias e mico-lees-de-cara-dou-
rada. Um ano depois de instalado, em fevereiro de
1998, o Ecoparque de Una foi aberto visitao
e, at 2004, j havia recebido 27 mil visitantes.
Desses, mais de 7 mil foram estudantes, sendo
60% oriundos de escolas pblicas da regio, o que
confrma o papel da iniciativa para a sensibilizao
em relao conservao ambiental.
Conhea mais: www.ecoparque.org.br
Reforar
O Projeto Reforar Recomposio Flo-
restal em reas Rurais vem sendo desenvolvido
pelo Grupo Ambientalista da Bahia (Gamb) na
regio do Recncavo Baiano, nos municpios de
Amargosa, Elsio Medrado, Santa Terezinha, So
Miguel das Matas e Varzedo, tendo sua sede na
Reserva Jequitib, na Serra da Jibia.
O projeto voltado basicamente para dois
componentes: recuperao de reas degradadas,
com proteo dos recursos hdricos e do solo e o
desenvolvimento de um programa de educao
ambiental. A estratgia para chegar aos produtores
rurais passa pela articulao com os sindicatos de
trabalhadores rurais.
J foram produzidas mais de 400.000 mudas
de 100 espcies da Mata Atlntica, recuperados
mais de 140 hectares e atendidas mais de 100
famlias. O projeto tem conseguido demonstrar
a recuperao (em volume e em qualidade de
gua) de algumas nascentes, em propriedades com
encostas de nascentes reforestadas, e tem uma
forte presena coibidora de aes degradadoras,
como a atividade madeireira ilegal e o comrcio
de passarinhos.
Conhea mais: www.gamba.org.br
Minas Gerais
Desenvolvimento Rural Sustentvel e
Conservao de Remanescentes
Desenvolvido pela Fundao Biodiversitas,
no municpio de Simonsia, Zona da Mata em
Mudas de rvores nativas
Mata Cap8.indd 259 2/23/06 11:51:29 PM
260
O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s
e
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
Minas Gerais, o projeto colabora na conservao
dos remanescentes de Mata Atlntica da regio
do entorno da Reserva Particular do Patrimnio
Natural (RPPN) Mata do Sossego, atravs da
experimentao e disseminao de prticas sus-
tentveis de manejo dos recursos naturais, que
considerem o conhecimento da populao local
e da comunicao ambiental.
O municpio de Simonsia, distante cerca
de 320 quilmetros de Belo Horizonte, uma
regio onde a Mata Atlntica se encontra muito
alterada, principalmente por conta das atividades
econmicas ligadas cultura do caf e pecuria.
Da rea total do municpio, apenas 18,4% esto
ocupados por uma cobertura forestal, quase to-
talmente fragmentada e insularizada, sendo que o
remanescente onde est includa a RPPN Mata do
Sossego, com cerca de 1.800 hectares, o maior e
mais contguo da regio. Segundo dados do IBGE
(1996), o municpio possui 1.674 propriedades
rurais, sendo que 428 so menores de 5 hectares
agrcola com a implantao de sistemas agrofo-
restais; reduo do uso de agrotxicos atravs da
agricultura orgnica; melhoria da base alimentar
das comunidades atravs da diversifcao dos
quintais agroforestais; e tcnicas de conservao e
recuperao de matas ciliares e de topo de morro.
O projeto j realizou o diagnstico rural par-
ticipativo com cerca de 170 famlias e implantou
mais de 100 hectares de experincias agro-am-
bientais e de recuperao de forestas.
Conhea mais: www.biodiversitas.org.br
Educao e Recuperao Ambiental no
Vale do Rio Doce
Desenvolvido pelo Instituto Terra, no mu-
nicpio de Aimors, Minas Gerais, o projeto visa
promover, executar e apoiar programas e aes
concretas de conservao, recuperao, gesto
e educao ambiental na Mata Atlntica da Ba-
cia do Vale do Rio Doce, atravs dos seguintes
componentes: recuperao ambiental, pesquisa,
educao e manejo de microbacias.
A sede do Instituto Terra fca numa unidade
de conservao, a Reserva Particular do Patrim-
nio Natural (RPPN) Fazenda Bulco, com 676,7
hectares, de propriedade de Sebastio e Llia
Salgado, cedida em comodato ao Instituto para o
desenvolvimento dos projetos ambientais. Para
a implementao dos componentes de educao
e pesquisa, foi construdo o Centro de Educao
e Recuperao Ambiental (Cera), com sede na
RPPN e mantido pelo Instituto e que iniciou suas
atividades em 19 de fevereiro de 2002.
A regio de Aimors era originalmente reco-
berta por exuberantes forestas e sua colonizao
ocorreu j tardiamente, no incio do sculo XX,
a partir da abertura da Estrada de Ferro Vitria-
Minas, que chegou ali em 1905. Atualmente, a
cobertura vegetal do municpio predominante-
mente composta de capoeiras, pastos e culturas
agrcolas, sendo que poucas matas so encontra-
RPPN Mata
do Sossego
e 1.050 fcam entre 5 e 50 hectares.
Nesse sentido, apoiar a experimentao e a
difuso de prticas agro-ambientais sustentveis
no entorno da RPPN Mata do Sossego est sendo
feito atravs de: tcnicas de conservao do solo e
dos recursos hdricos; diversifcao da produo
Mata Cap8.indd 260 2/23/06 11:51:51 PM
261
O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s
e
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
das no alto das serras.
At o momento, foram trabalhados 169,7
hectares na RPPN, 25% do total. Foram plantadas
350 mil mudas de espcies arbreas em reas an-
teriormente ocupadas por pastos ou degradadas.
O Instituto realiza, tambm em parceria com a
prefeitura municipal, o Projeto Aimors, cujo
objetivo o desenvolvimento sustentvel da zona
rural, atravs do planejamento por microbacia.
Conhea mais: www.institutoterra.org
Sistemas agroecolgicos
O estado de Minas Gerais foi um dos que
mais sofreu com a devastao da Mata Atlntica
em todo o Pas e hoje conta com grandes extenses
de terra tomadas pela agricultura. No entanto, ain-
da existem ricos remanescentes de mata a serem
conservados, como o Parque Estadual da Serra do
Brigadeiro e o Parque Nacional do Capara. Essa
tarefa s ser possvel se houver a participao dos
moradores do entorno dessas unidades na gesto
do parque e se houver um incentivo ao desenvol-
vimento de prticas agroecolgicas.
Pensando nessa questo, o Centro de Tec-
nologias Alternativas da Zona da Mata de Minas
Gerais (CTA-ZM) desenvolve, desde 1994, o
programa Agricultura sustentvel e conservao
da Mata Atlntica na Serra do Brigadeiro, que
tem como meta a construo de uma proposta
de desenvolvimento rural sustentado nas reas
de entorno do parque. O desafo melhorar as
condies de vida das famlias, aumentando a
produo de alimentos e a renda e conservando
os recursos naturais desta regio.
Alm da elaborao de um plano estratgico
para produo do caf agroecolgico, o projeto
desenvolveu uma metodologia para avaliao de
desempenho econmico e fnanceiro de sistemas
agroecolgicos familiares e fez um estudo com-
parativo sobre o desempenho desses sistemas e os
tradicionalmente utilizados. A proposta metodo-
lgica de monitoramento baseada em atributos
de sustentabilidade para os agroecossistemas. As
atividades desenvolvidas pelo projeto junto aos
agricultores e lideranas comunitrias, somadas
orientao tcnica, estimularam a converso para
o sistema agroecolgico de mais de cinqenta
famlias que produziam convencionalmente, nos
municpios de Espera Feliz, Araponga, Tombos,
Eugenpolis e Carangola.
Conhea mais: www.ctazm.org.br
Paran
Apoio a projetos
Em 1990, a Fundao O Boticrio de Prote-
o Natureza iniciou suas atividades apoiando
projetos de conservao realizados por tercei-
ros, benefciando assim diversas instituies de
pesquisa, ensino e gesto de reas protegidas no
Brasil. No Domnio da Mata Atlntica, a Funda-
o j apoiou a realizao de 429 projetos, que
tratam de assuntos diversos, como pesquisas sobre
a ecologia de espcies ameaadas, inventrios de
biodiversidade em diferentes regies e envolven-
do vrios grupos animais e vegetais, avaliao
dos impactos da atividade do homem sobre os
ambientes naturais e apoio implantao de infra-
estrutura em unidades de conservao.
Projeto de
conservao
na Serra do
Brigadeiro
Mata Cap8.indd 261 2/23/06 11:52:12 PM
262
O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s
e
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
Na regio da foresta ombrfla densa j fo-
ram apoiados 208 projetos, a maior parte realizada
nas regies Sul e Sudeste do Brasil, onde hoje se
encontram os remanescentes mais expressivos da
formao. Espcies ameaadas de primatas, aves e
plantas foram contempladas nesses estudos, alm
de publicaes e cursos relacionados ao bioma.
Na foresta com araucria, foram 44 projetos,
desenvolvidos principalmente no Paran, onde
essa foresta ocupava parte signifcativa do Estado
e hoje est reduzida a um percentual nfmo, longe
de ser o mais adequado para garantir a perpe-
tuao dessa fsionomia. Associados foresta de
araucria ocorrem os campos, altamente ameaa-
dos pela expanso das atividades agropecurias,
que foram tratados de forma mais direta em so-
mente oito projetos, refexo da prpria demanda
de propostas nesse tipo de vegetao.
Projetos realizados nas forestas estacionais
compem uma parte menor das aes apoiadas,
totalizando 42 projetos. A situao desses tipos
vegetacionais no muito distinta da foresta
com araucria, com o agravante de que no tem
despertado tanto a ateno dos conservacionistas
como as demais formaes do Domnio.
Os ecossistemas costeiros, considerados for-
maes associadas ao Domnio da Mata Atlntica,
incluindo as dunas, restingas e manguezais, foram
contemplados com 127 projetos, executados pra-
ticamente ao longo de toda a costa do Brasil.
Os projetos apoiados na Mata Atlntica re-
presentam quase metade do conjunto de propostas
que receberam apoio da Fundao O Boticrio de
Proteo Natureza em seus 15 anos de atuao.
Muitos resultaram em monografas, dissertaes
e teses em cursos de graduao e ps-graduao
no Brasil, na descoberta de espcies novas para a
cincia, na ampliao da base de conhecimentos
sobre espcies ameaadas, na melhoria das condi-
es de infra-estrutura e funcionamento de unida-
des de conservao, em aes de mobilizao da
sociedade para a conservao, entre outros.
Conhea mais: http://internet.boticario.com.
br/portal/site/fundacao/
Manejo regenerativo de ecossistemas
associados Mata Atlntica
O projeto, que vem sendo implantado pela
Assessoria e Servios a Projetos em Agricultura
Alternativa (AS-PTA), nos municpios de So
Mateus do Sul e Bituruna, no Paran, desenvolve
sistemas produtivos de erva-mate (Ilex paragua-
riensis) integrados ao manejo regenerativo das
forestas de araucria. O objetivo contribuir para
o rompimento do ciclo de degradao ambiental,
atravs da conservao dos recursos naturais e
da promoo da melhoria da qualidade de vida
das populaes locais. O projeto implantou um
conjunto de unidades demonstrativas e capacitou
40 tcnicos e 1.003 agricultores da regio atravs
de reunies, dias de campo, cursos e mutires,
demonstrando que possvel preservar e recuperar
a Mata Atlntica e ao mesmo tempo melhorar a
renda do agricultor.
Porcos do mato
Pinho
Mata Cap8.indd 262 2/23/06 11:52:35 PM
263
O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s
e
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
Depois de trs anos de trabalho, possvel
notar uma mudana de percepo e de atitude dos
tcnicos e agricultores participantes do projeto,
j totalmente capazes de explicar os fenmenos
ecolgicos que ocorrem em seus sistemas. Ao
conhecer esses princpios, os agricultores conse-
guem relacion-los com a prtica desenvolvida
nas unidades demonstrativas e questionam o
incentivo dado pelo governo para os plantios de
espcies exticas, como o pinus e espcies de
erva-mate trazidas da Argentina.
A maioria dos agricultores que participam do
projeto est respeitando as reas de preservao
permanente e reservas legais e acha essa medida
necessria para a manuteno dos ecossistemas.
Os que j haviam desmatado essas reas come-
aram a recuper-las. O processo de educao
ambiental desenvolvido pelo projeto ampliou a
conscientizao ambiental e contribuiu para a mu-
dana das atitudes do agricultores, pois o manejo
dos sistemas produtivo-regenerativos requer, alm
do conhecimento do funcionamento dos ecossis-
temas, um profundo respeito natureza.
O sucesso do projeto deve-se tambm s par-
cerias com os Sindicatos de Trabalhadores Rurais
da regio e com a Diocese de Unio da Vitria,
no que tange difuso das experincias e cursos
de medicina alternativa. O projeto estabeleceu
tambm uma parceria com a Associao Brasileira
de Sade Popular (Abrasp).
Conhea mais: www.aspta.org.br
Seqestro de Carbono
So projetos que vm sendo implantados pela
Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem (SPVS)
na regio de Guaraqueaba, no litoral do Paran
e tm como meta a fxao de 2,5 milhes de
toneladas de carbono, em 40 anos. premissa da
SPVS e exigncia dos parceiros fnanciadores que
os projetos tambm ofeream outros resultados,
como a recuperao forestal, aes de conserva-
o do meio ambiente e alternativas de gerao de
renda para as comunidades que vivem prximas
s suas reas de infuncia e a preservao da
biodiversidade da Mata Atlntica da regio.
A SPVS adquiriu e transformou em Reserva
Particular do Patrimnio Natural (RPPN) uma
rea de 20 mil hectares, distribuda em trs gle-
bas: 7 mil hectares (Reserva Natural Serra do
Itaqui); 12 mil hectares (Bacia Hidrogrfca do
Rio Cachoeira); 1 mil hectares (Reserva Morro
da Mina). Nessas reas, est sendo promovida
a conservao da biodiversidade, a restaurao
forestal em reas degradadas, o enriquecimento
de forestas secundrias e o desenvolvimento rural
sustentvel junto s comunidades do entorno.
Os projetos fazem parte da ao contra o
aquecimento global e pretendem contribuir para
combater o fenmeno negativo das mudanas
climticas, provocado pelo efeito estufa. O efeito
estufa provocado pelo aumento da concentrao
de carbono na atmosfera, elevando a temperatura
da superfcie do Planeta e conduzindo a altera-
es nos padres climticos. O ltimo relatrio
do Painel Intergovernamental de Mudanas
Climticas da ONU, divulgado em 12 de julho
de 2001, afrma que as temperaturas globais vo
aumentar de 1,4 a 5,8 C at o fm deste sculo.
Tal aumento quase duas vezes maior do que o
previsto h cinco anos.
Plantio de rvores em Guaraqueaba
Mata Cap8.indd 263 2/23/06 11:52:51 PM
264
O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s
e
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
A SPVS trabalha em parceria com a The
Nature Conservancy (TNC), uma organizao
no-governamental dos Estados Unidos com
atuao internacional, e tem como fnanciadores
as seguintes empresas: American Electric Power,
General Motors e Texaco.
Conhea mais: www.spvs.org.br
Pernambuco
Difuso de sistemas agroforestais
Executado pelo Centro de Desenvolvi-
mento Agroecolgico Sabi, nos municpios de
Abreu Lima e Bom Jardim, na Zona da Mata,
em Pernambuco, o projeto Difuso de Sistemas
Agroforestais desafa o violento processo de
degradao do solo e da devastao da foresta
nativa na regio, que tornou a terra improdutiva
e tirou do mapa aves como o sabi, picapau,
beija-for e canrio.
Em 22 comunidades, com o envolvimento de
mais 100 famlias, o projeto se dedica ao plantio
de culturas anuais e introduo de espcies nativas
(arbreas e arbustos), com vistas produo de
matria orgnica, madeira e rao para animais.
Os produtos, inclusive os derivados do mel,
so benefciados e comercializados, contribuindo
para o aumento da renda na propriedade rural.
Entre os produtos cultivados esto abacaxi, ba-
nana, jaca, caju, jenipapo, carambola, mandioca,
inhame e car. Entre as espcies de rvores na-
tivas mais plantadas est o ip, uma das rvores
mais conhecidas e que deu origem ao nome do
municpio Bom Jardim, por conta das fores que
cobriam o cho das estradas. Outra espcie arb-
rea de grande valor econmico e que est sendo
utilizada no projeto o sabi (igual ao nome da
ave) e que usado para vrios fns, entre eles a
produo de lenha.
Conhea mais: www.centrosabia.org.br
Jaca, uma
das espcies
do projeto
Rio Grande do Sul
A experincia com as unidades
de conservao*
Em 1995, nos perguntvamos como seres
do mundo, onde poderamos fazer diferena
nessa complexa teia da vida, onde deveramos
concentrar nossos esforos. Descobrimos ento
as unidades de conservao como um conjunto
de coraes pulsantes no mapa ambiental do Rio
Grande do Sul. No maior deles, os Parques Na-
cionais de Aparados da Serra e Serra Geral, inicia-
mos um projeto de desenvolvimento sustentvel
com as comunidades do entorno. Uma unidade
de conservao onde a proteo da natureza est
associada ao uso pblico pode trazer enormes
benefcios para as comunidades locais. Basta pro-
mover incluso, auto-gesto, alternativas econ-
micas sustentveis, qualifcao da comunidade,
gerao de conhecimentos, educao ambiental e
planejamento, elementos que, entre outros, inte-
gram iniciativas de desenvolvimento sustentvel.
Sede da SPVS no litoral
Mata Cap8.indd 264 2/23/06 11:53:26 PM
265
O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s
e
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
O trabalho foi grande, o tempo de trs anos foi
curto, mas fomos parceiros dos interessados locais
em protagonizar uma nova perspectiva.
Hoje, Cambar do Sul, no Rio Grande do Sul,
migra gradativamente de uma economia depen-
dente da indstria de celulose para um aumento do
ecoturismo. A personalidade cultural dos campos
de cima da serra foi valorizada e h vontades de
mant-la. Revitalizamos espaos culturais que
foram apropriados. Incentivamos iniciativas
locais em servios e produtos do turismo susten-
tvel que cresceram. Buscamos solues para os
resduos domiciliares, a degradao do campo
nativo, a apicultura e o artesanato tradicional,
com a qualifcao de processos e organizao
comunitria. Infelizmente, algumas iniciativas
no avanaram, abandonadas pelo poder pblico
e sem fora com o fm prematuro do projeto, mas
os resultados foram positivos e novas foras pelo
desenvolvimento sustentvel surgiram da.
Percebemos que as unidades de conservao
podem ser conectadas por corredores ecolgicos
numa estratgia de gesto territorial que amplia e
integra aes de desenvolvimento sustentvel. Em
1999, comeamos a trabalhar o corredor ecolgico
Serra Geral propondo uma estratgia de gesto
que aumentasse a conectividade entre os parques
nacionais e diversas unidades de conservao da
regio, implantadas ou no papel. Parque Estadual
de Tainhas, Reserva Biolgica de Aratinga, Flona
de So Francisco de Paula, APA da Rota do Sol,
Reserva Biolgica Serra Geral, Reserva Biolgica
Mata Paludosa, APA de Torres, Parque Estadual
de Itapeva e algumas reas privadas constituem,
com os parques nacionais, um riqussimo mosaico
que pode ser gerido como corredor ecolgico, isso
tudo dentro da Mata Atlntica.
A necessidade de fortalecer essa estratgia
nos levou, no mesmo ano, a integrar o Comit
Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlntica
do Rio Grande do Sul, um sistema de gesto bior-
regional altamente qualifcado e que consegue ser
pr-ativo na construo desse outro paradigma.
Nele propomos polticas pblicas mais sustent-
veis, promovemos a articulao inter-institucional
e a multidisciplinaridade, constitumo-nos como
resistncia s iniciativas de degradao da Mata
Atlntica, ainda fortes e persistentes no Rio Gran-
de do Sul e no Brasil. As unidades de conservao,
zonas ncleo da Reserva da Biosfera, so acom-
panhadas no seu conjunto e apoiamos iniciativas
que podem ser mais efcazes em fortalec-las e s
comunidades de seu entorno.
A preocupao e a atuao regional nos le-
varam, em 2000, a uma parceria com o governo
do estado do Rio Grande do Sul para elaborar um
projeto de conservao da Mata Atlntica para a
regio do mosaico. Pela primeira vez no Estado,
vrios rgos ambientais do governo trabalharam
intensamente com uma organizao no-gover-
namental para propor um projeto de conserva-
o que integrasse consolidao de unidades de
conservao, sistematizao e disponibilidade
de informaes, controle ambiental, recuperao
de ecossistemas, educao ambiental e desen-
volvimento sustentvel com as comunidades do
entorno. Durante dois anos e meio elaboramos,
negociamos e aprovamos o projeto junto ao Grupo
Bancrio KfW. O Comit acompanhou o trabalho
Parque
Nacional da
Serra Geral
Mata Cap8.indd 265 2/23/06 11:53:48 PM
266
O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s
e
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
e foi indicado como conselho deliberativo do
projeto. Mas o governo resolveu jogar sozinho,
sem parceria com a sociedade e sem acompanha-
mento do Comit. Isso trouxe inmeras alteraes
no projeto, que vem perdendo suas propriedades
mais notveis parcerias, abordagem sistmica,
proteo aliada ao desenvolvimento sustentvel
unindo-se a outros na vala comum.
A frustrao com o governo - parceiro na
captao, Judas na execuo - reforaram a neces-
sidade de retomar um equilbrio de abordagem na
nossa estratgia. Voltamos a intensifcar de forma
mais autnoma nossas aes diretas no entorno das
unidades de conservao que integram o mosaico.
Junto ao Parque Estadual de Itapeva, que ajuda-
mos a criar, estamos desde 2003 atuando com a
comunidade no embrio de um projeto semelhante
ao dos parques nacionais. A perspectiva regional
est recebendo esforos concretos num projeto
para defnio de reas prioritrias criao de
novas unidades de conservao na Mata Atlntica
do Rio Grande do Sul. Gradativamente estamos
ampliando nossa participao nos conselhos das
unidades de conservao e nossa presena junto
aos gestores e ao Ministrio Pblico, buscando
negociar confitos e construir alternativas para as
UCs e a Mata Atlntica.
*Alexandre Krob, agrnomo, MSc. em Cincia
do Solo, coordenador tcnico e scio-fundador
da Curicaca, representante da instituio na pre-
sidncia do Comit Estadual da Reserva da Bio-
sfera da Mata Atlntica no RS e na coordenao
da RMA-RS e Patrcia Bohrer, artista visual,
MSc. em Educao e Movimentos Sociais, arte-
educadora e scia-fundadora do Curicaca
Conhea mais: www.curicaca.org.br/
Manejo agroforestal da
regio de Torres
Implantado pelo Centro Ecolgico (CE),
uma organizao no-governamental com 15 anos
de trabalho no campo da agroecologia em duas
regies do Rio Grande do Sul (na Serra Gacha,
nos municpios de Ip, Antnio Prado, Nova
Roma do Sul e Caxias do Sul, e no Litoral Nor-
te, nos municpios de Torres, Trs Cachoeiras,
Morrinhos do Sul, Mampituba e em D. Pedro
de Alcntara), o projeto promove a reconstitui-
o sistemtica da vegetao original da regio
atravs de prticas agroforestais, aumentando a
cobertura forestal e procurando conect-la com
os remanescentes forestais que ainda existem.
Para alcanar o objetivo, o projeto realiza a capa-
citao tecnolgica das associaes e grupos de
agricultores ecologistas j existentes na regio em
manejo de sistemas agroforestais.
Diretamente, o projeto benefcia 75 famlias,
mas indiretamente esse nmero bem maior.
Houve um fortalecimento do processo de organi-
zao do movimento de agricultores ecologistas
na regio e um aumento da auto-estima, resultan-
do em fortalecimento do processo de proteo e
recuperao ambiental, especialmente do compo-
nente forestal e cursos dgua. A rea plantada e
manejada no projeto totaliza 180 hectares, numa
mdia de 3 a 5 hectares por propriedade. Os sis-
temas agroforestais so implantados em reas
de bananais, onde so introduzidas espcies de
rvores frutferas e outras nativas. Tambm so
realizadas experincias de enriquecimento de
capoeiras, com introduo de espcies frutferas e
madeireiras. As principais espcies utilizadas nos
sistemas agroforestais so palmito, ing, sobra-
gi, mamo, maracuj, cedro, canelas, canjerana,
araticum, caf, lima, louro e ameixas.
Conhea mais: www.centroecologico.org.br
Monitoramento de
atropelamento da megafauna*
O Livro Vermelho do Rio Grande do Sul
(Fontana, Bencke & Reis 2003) inclui 178 esp-
cies ameaadas entre herpetofauna, avifauna e
Mata Cap8.indd 266 2/23/06 11:53:49 PM
267
O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s
e
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
mastofauna. As causas dessa situao so comu-
mente vistas no Brasil, tais como o desforesta-
mento, a caa predatria, a poluio das guas
bem como a competio com espcies exticas.
No entanto, ainda incipiente o conhecimento
sobre o impacto resultante do atropelamento
da megafauna (rpteis, aves e mamferos) em
rodovias, provavelmente por exigir esforo de
estudiosos e uso de GPS.
de um automvel em movimento (40Km/h a 80
Km/h), a identifcao da espcie foi possvel para
a maioria dos mamferos (ex: Didelphis albiven-
tris, Cavia aperea, Coendou villosus, Dusicyon
sp, Dasypus sp), o mesmo no ocorrendo para
rpteis e aves. Serpentes (Jararaca sp e Spilotes
anomalepis) e lagartos (Tupinambis merianae)
foram vistos tanto em bito quanto atravessan-
do a rodovia. No houve diferena signifcativa
entre o nmero de atropelamentos no inverno e
no vero at novembro de 2004. No entanto, ao
serem includos os dados obtidos para as trs
amostragens realizadas entre dezembro e maro
de 2005, constatou-se um acrscimo de 58% no
nmero de animais atropelados. Esse fato pode
estar relacionado com a severa estiagem ocorrida
na regio, histrica para o Estado.
Dados obtidos por esse mtodo indicaram
cinco trechos principais que devero receber
placas indicativas da travessia de animais silves-
tres da Mata Atlntica (atuao conjunta entre
ONG Mira-Serra, Secretaria Estadual do Meio
Ambiente (Sema-RS), o Projeto de Conservao
da Mata Atlntica-RS e DAER. Assim sendo, o
mtodo se constitui em ferramenta importante de
monitoramento que poder ter aplicao nos es-
tudos de diversidade, abundncia e/ou densidade
da megafauna local.
*Lisiane Becker, Rogrio Mongelos e Marli
Custdio de Abreu, da ONG Mira-Serra
Rio de Janeiro
Mico-leo-dourado
Para proteger e conservar os micos-lees-
dourados em seu ambiente natural, em 1983 foi
criado o Programa de Conservao para o Mico-
Leo-Dourado (PCMLD), que ganhou novo
impulso com a criao, em 1992, da Associao-
Mico-Leo-Dourado.
Filhote de anta
Nesse contexto, a ONG Mira-Serra se pro-
ps a encontrar um mtodo simples de monito-
ramento dos animais atropelados, que pudesse
ser aplicado por qualquer pessoa. Para tanto, foi
adotada como referncia bsica o nmero dado
s paradas de nibus, em detrimento da marca-
o do Departamento Autnomo de Estradas de
Rodagem (DAER) descontnuo - e do odmetro
- dependente do ponto de origem e da lembrana
de calibragem.
A RS-020, rodovia desse estudo, cruza a poli-
gonal da Mata Atlntica e no possui acostamento
em boa parte da pista, impossibilitando a obteno
de coordenadas georreferenciadas. Os exemplares
atropelados foram agrupados, a posteriori, em
silvestres (181), domsticos (21) e indeterminados
(5). Para as vinte e seis amostragens (maio/2000 a
maro/2005) efetuadas por observaes de dentro
Mata Cap8.indd 267 2/23/06 11:54:09 PM
268
O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s
e
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
O programa vem atuando na regio de ocor-
rncia atual dos micos, nos municpios de Silva
Jardim, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Rio
Bonito, So Pedro dAldeia, Cabo Frio, Armao
dos Bzios e Saquarema, no litoral do Rio de
Janeiro. Essas so as ltimas reas de ocorrncia
da espcie.
A estratgia do programa tem sido avaliada
e refnada com a ajuda de um processo conhecido
como Anlise de Viabilidade de Populao e de
Hbitat, que alimentado com todas as informa-
es sobre a espcie (demografa, ecologia) e seu
ambiente natural (tamanho da rea de ocorrncia,
isolamento, grau de fragmentao), bem como os
aspectos sociais, econmicos e culturais da regio
(presses antrpicas sobre as reas e a espcie).
Para considerar o mico-leo-dourado salvo
da ameaa de extino, ser necessrio alcanar,
at o ano 2025, uma populao de 2.000 micos
vivendo livremente em seu ambiente natural. Para
isso, so necessrios 25.000 hectares de forestas
protegidas.
Isso poder ser alcanado atravs de algumas
aes, como: desenvolvimento de pesquisas sobre
a espcie e seu habitat natural; identifcao e re-
duo das ameaas que recaem sobre a espcie e o
hbitat; proteo e ampliao das forestas remanes-
centes; treinamento de estudantes e profssionais; e
multiplicao do modelo para outras regies.
Conhea mais: www.micoleao.org.br
Santa Catarina
Agroforesta familiar
O projeto Desenvolvimento da Agrossil-
vicultura na Agricultura Familiar do Planalto
Serrano e Alto Vale do Itaja entrou em funciona-
mento em 2004 com o objetivo de desenvolver a
agrossilvicultura (agricultura, pomar e foresta) na
propriedade familiar, buscando melhores condi-
es socioeconmicas dos agricultores familiares
e a conservao dos recursos naturais da regio
do Planalto Serrano Catarinense e Alto Vale do
Itaja. Estima-se com este projeto sensibilizar e
cadastrar 450 famlias de agricultores.
Plantio de abboras na mata
O projeto prev a efetivao de 30 Unidades
Experimentais Particulares (UEPs), que vo gerar
referncias em agrossilvicultura, sistemas silvi-
pastoris, sistemas silvi-agrcolas, entre outras. Es-
sas reas estaro distribudas em nove municpios
da regio dos Campos e de Lages e 11 municpios
no Alto Vale Itaja, atendendo a diferenas scio-
culturais, econmicas e ambientais especfcas
de cada regio. Ao receber assessoria tcnica das
entidades responsveis pelo projeto, agricultores
com maior potencial de divulgao do projeto j
comearam a construir consrcios entre arbreas
e espcies de cultivo rpido, devendo funcionar
como monitores de outros proprietrios, cujos
lotes tm em mdia 20 hectares. Nesse modelo, os
agricultores tornam-se responsveis pela susten-
tao ecolgica da propriedade, podendo escolher
combinar desde elementos simples, como arroz
e erva-mate, at o manejo de espcies nativas
que promovem a restaurao da biodiversidade
regional.
Mata Cap8.indd 268 2/23/06 11:54:27 PM
269
O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s
e
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
O Centro Vianei de Educao Popular e a
Associao de Preservao do Meio Ambiente do
Alto Vale do Itaja (Apremavi) so os executores
e acreditam que necessrio promover a busca
de solues tcnicas, o resgate e o aprimoramento
de alternativas viveis para as diferentes situa-
es. Assim, as entidades acompanham e fazem
o monitoramento dos sistemas agroforestais,
avaliando resultados e elaborando propostas de
continuidade.
Conhea mais: www.uniplac.rct-sc.br/vianei
Planejamento de
Propriedades e Paisagens
Desenvolvido pela Associao de Preser-
vao do Meio Ambiente do Alto Vale do Itaja
(Apremavi), fundada em 1987, em Santa Catarina,
o Programa de Planejamento de Propriedades e
Paisagens integrado por um conjunto de ati-
vidades, cujo objetivo desenvolver e oferecer
know-how na recuperao de forestas e promover
alternativas econmicas ambientalmente susten-
tveis junto a proprietrios rurais, prefeituras e
empresas de Santa Catarina. O Programa com-
posto pelas seguintes aes:
Produo de mudas e recuperao de reas
degradadas e matas ciliares realizado desde a
criao da Apremavi, esse trabalho inclui a coleta
de sementes e a produo de mudas no Viveiro
Jardim das Florestas, localizado em Atalanta, que
tem capacidade para produzir aproximadamente
600 mil mudas por ano de 120 espcies diferentes
de rvores nativas da Mata Atlntica, alm de
vrias espcies de bromlias e algumas espcies
medicinais. Entre 1994 e 2002, essa iniciativa
viabilizou o plantio de 435 mil rvores, num total
de 235 hectares, em 200 propriedades rurais de
Santa Catarina. As rvores so plantadas em co-
mum acordo com os proprietrios, privilegiando
as margens de rios e nascentes, a fm de recom-
por as matas ciliares, alm de encostas com alta
declividade. O trabalho complementado por
atividades educativas, que visam conscientizar
os benefcirios da importncia das forestas em
seu cotidiano.
Enriquecimento de Florestas Secundrias
Iniciado em 1996, uma experincia pioneira
de valorizao e enriquecimento de florestas
secundrias (matas degradadas pela explorao
madeireira, alm de capoeiras e capoeires). Seu
objetivo manter esses conjuntos forestais, incre-
mentar a diversidade arbrea e, ao mesmo tempo,
proporcionar seu uso econmico sustentvel no
futuro. At 2002, foram enriquecidos cerca de 110
hectares de forestas secundrias, localizadas em
79 propriedades, de 19 municpios, com o plantio
de 217 mil mudas de rvores nativas de mais de 60
espcies. Paralelamente, foram capacitados 768
agricultores e tcnicos especializados.
Agricultura orgnica Esse trabalho visa
disseminar, entre os agricultores catarinenses, a
produo de alimentos sem o uso de agroqumicos
e a adoo de tcnicas de manejo que propiciem a
conservao do solo. Iniciado em 1992, resultou
no cadastramento das principais iniciativas de
agricultura orgnica no Alto Vale do Itaja e na
implantao de experincias em oito propriedades
Recuperao
de APPs
prioridade
Mata Cap8.indd 269 2/23/06 11:54:48 PM
270
O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s
e
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
de pequenos agricultores da regio. Integrante
da Rede de Certifcao Participativa Ecovida,
a Apremavi fornece assessoria a agricultores de
vrios municpios e promove periodicamente
cursos e seminrios sobre agricultura orgnica.
Conhea mais: www.apremavi.org.br
So Paulo
Abrao Verde
Esta iniciativa vem sendo implantada pelo
Instituto de Pesquisas Ecolgicas (IP), no en-
torno do Parque Estadual do Morro do Diabo,
no Pontal do Paranapanema, So Paulo, com o
objetivo de proteger e isolar a borda exposta e
degradada desse fragmento forestal, atravs de
uma zona tampo de agroforesta, tentando dessa
maneira minimizar as perturbaes antrpicas e
os efeitos de borda.
Sob a perspectiva social, essa zona agrofo-
restada tem como objetivo melhorar e diversifcar
as atividades produtivas numa faixa dos assenta-
mentos rurais, stios e fazendas que contornam o
Parque, numa faixa de 40 a 80 metros de largura
por dois quilmetros de extenso pela juno de pe-
quenas propriedades rurais. Assim, o Abrao Verde
permite a produo de bens (frutos, madeira, lenha,
mel, ervas medicinais, matria orgnica, forragem
etc.) e servios (quebra-vento, cerca viva, conser-
vao e fertilidade do solo, aumento da produtivi-
dade agropecuria, diversifcao das atividades
produtivas, aceiros, sombra, lazer etc.).
Alm disso, pretende gerar, transferir e
multiplicar os conhecimentos e resultados ad-
quiridos para outros fragmentos forestais e suas
respectivas comunidades do entorno, levando tais
conhecimentos a pequenos e mdios agricultores
e disseminando prticas agroforestais na regio,
principalmente pelo compromisso das comuni-
dades com o reforestamento. Assim, j foram
plantadas mais de 1 milho de mudas nativas
da Mata Atlntica na regio do Pontal, tambm
em projetos como o de Ilhas de Biodiversidade
e Corredores Ecolgicos, que criam, respectiva-
mente, trampolins para a passagem de espcies da
fauna e corredores entre fragmentos e unidades
de conservao.
Conhea mais: www.ipe.org.br
Assentamento Agroambiental Alves e Pereira
O assentamento tem como proposta de-
monstrar a viabilidade econmica da agroecolo-
gia, induzindo o uso de tcnicas de manejo que
diminuem os impactos ambientais e melhoram
a qualidade de vida da comunidade. Para esse
objetivo, so desenvolvidos sete projetos demons-
trativos pela Associao dos Amigos e Moradores
do Bairro Guapiruvu, onde o assentamento est
localizado, no municpio de Sete Barras (SP).
Por meio de experincias individuais de
prticas agroecolgicas, diminuiu-se em 90% a
aplicao de agroqumicos na agricultura familiar,
sendo que nove pequenos produtores adquiriram
o selo de certifcao socioambiental ECO-OK,
outorgado pelo Imafora. A comercializao dos
produtos feita pela cooperativa local, operada
de forma participativa, com sistema comunitrio
de uso de trator, carretas de transporte e mquinas
de pulverizao.
Remanescente forestal em So Paulo
Mata Cap8.indd 270 2/23/06 11:55:07 PM
271
O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s
e
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
A proposta futura usar 600 dos 3 mil
hectares do assentamento agroambiental para o
sistema agroforestal, em parcelas individuais
familiares, e o restante para o manejo ecolgico
coletivo, promovendo o ecoturismo, o manejo de
ervas medicinais, plantas ornamentais e coleta de
sementes. Assim, o assentamento cuja histria
possui 50 anos de luta pelos direitos dos posseiros,
coloca-se como alternativa de desenvolvimento
socioambiental para reas de Mata Atlntica.
Conhea mais: www.incra.gov.br/srs/sp/
default.htm
cinco estados (SP, MG, MS, PE e BA), principal-
mente em reas de Preservao Permanente e em
Reservas Legais.
O funcionamento do programa ocorre em
parceria com proprietrios rurais interessados em
recuperar reas degradadas de Mata Atlntica.
Depois de realizar cadastro no site, o participante
precisa apresentar um projeto de reforestamento
com espcies nativas e frmar contrato se com-
prometendo com a implantao e manuteno por
cinco anos das rvores no campo. J os viveiros
so indicados pela prpria SOS Mata Atlntica,
que realiza vistorias tcnicas para acompanhar o
andamento dos plantios.
Alm de estimular o envolvimento das pes-
soas com a mata, por meio de aes de cidadania
virtual, o programa oferece incentivos para os
maiores plantadores e reconhece o esforo dos
parceiros pela divulgao no site dos projetos e
suas respectivas reas reforestadas. At meados
de 2005, mais de 200 projetos participantes ha-
viam promovido o reforestamento de cerca de 2
mil hectares no Domnio da Mata Atlntica.
Em 2004, ao invs de se posicionar apenas
como intermediria do plantio com nativas, a
SOS Mata Atlntica partiu para um programa
mais extenso de recuperao forestal. No Flo-
restas do Futuro, que funciona paralelamente ao
Click rvore, a entidade fca responsvel pela
execuo do plantio e est diretamente compro-
metida com a manuteno das mudas no campo.
Por um modelo de gesto ambiental que integra
empresas, proprietrios de terra que cedem a rea
para o reforestamento, rgos gestores de meio
ambiente e a parceria com ONGs locais para a
educao ambiental das comunidades regionais,
o Florestas do Futuro j propicia a conservao
de diferentes bacias hidrogrfcas. As rvores
patrocinadas pelas empresas esto servindo
recomposio de matas ciliares ao longo de cinco
sub-bacias: Rio das Contas, Rio Doce, Paraba do
Sul, Tiet e Tibagi.
Click rvore e Florestas do Futuro
O Click rvore um programa inovador da
Fundao SOS Mata Atlntica, em parceria com
o Instituto Vidgua e o Grupo Abril, que permite
ao usurio da Internet doar mudas gratuitas para o
reforestamento da Mata Atlntica. A cada clique
virtual, o internauta planta uma muda real, paga
por empresas patrocinadoras do projeto, em reas
degradadas do bioma. Em mais de seis anos de
existncia, o Click rvore j possibilitou o plantio
de mais de 4 milhes e 100 mil mudas nativas em
Sistema agroforestal
Mata Cap8.indd 271 2/23/06 11:55:26 PM
272
O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s
e
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
A partir da indicao da bacia pelo patro-
cinador, a SOS escolhe a rea para introduo
das mudas e estabelece parcerias locais para
sensibilizao das comunidades. As empresas,
cadastradas pelo site do programa, podem fnan-
ciar a cota mnima de 15 mil rvores, ao custo
de R$ 150 mil, e contar com um programa de
fdelidade empresarial e divulgao da parceria
socioambiental.
Pelo Florestas do Futuro, mais de 200 mil r-
vores nos estados do Paran e So Paulo j foram
fnanciadas por empresas grandes como Bradesco
e Repsol YPF ou por pequenas como a Interface
Carpetes. O modelo de parceria empresarial para
a conservao da Mata Atlntica vem se conso-
lidando e j inclui a adeso de novos parceiros
como Coca-Cola, revista Isto, Citizen e Lao
Engenharia, para que se alcance a marca de 490
mil rvores patrocinadas at maro de 2006.
Conhea mais: www.clickarvore.com.br; www.
forestasdofuturo.org.br
Plo Ecoturstico do Lagamar
O Plo Ecoturstico do Lagamar um projeto
desenvolvido pela Fundao SOS Mata Atlntica
nos municpios de Iguape, Canania, Pariquera-
Au e Ilha Comprida, no Vale do Ribeira, em So
Paulo, desde 1995.
O Vale do Ribeira abriga a maior parcela
contnua da Mata Atlntica do Pas. Apesar disso,
a riqueza biolgica dessa rea tem sido constan-
temente ameaada pela explorao predatria de
seus recursos naturais. A cidade de Iguape possui
o maior nmero de edifcaes tombadas pelo
Patrimnio Histrico Nacional no Estado de So
Paulo, num total de 62 construes coloniais.
A imensa diversidade biolgica do Lagamar,
com forestas, campos de altitude, praias, rios,
lagunas, cachoeiras, ilhas, restingas, mangues
etc., possibilita opes tursticas para diferentes
pblicos: caminhadas por praias desertas ou ma-
tas, passeios de canoa, trilhas de bicicleta, visitas
a patrimnios histrico-culturais, observao de
aves, visitas a criadouros de ostras, viveiros de
plantas nativas, stios arqueolgicos onde esto os
sambaquis deixados por populaes de mais de 5
mil anos e at passeio pela baa onde os golfnhos
se reproduzem.
O projeto desenvolvido com o patrocnio
do Instituto Brasileiro de Turismo e a colabora-
o de agncias de viagens, hotis, restaurantes,
associaes comerciais, barcos, guias, prefei-
turas e instituies, como a Fundao Florestal
de So Paulo. Para o desenvolvimento do plo,
foi realizado um levantamento ecoturstico da
regio, cursos de capacitao para mais de 350
moradores e educao ambiental para a comu-
nidade local, alm da implantao do Centro de
Interpretao Ambiental e Informao Turstica,
na Base Urbana da Fundao SOS Mata Atlntica,
em Iguape.
Conhea mais: www.sosmatatlantica.org.br
Quilombolas do Vale do Ribeira
Sem opes de renda, a comunidade do
Quilombo de Ivaporunduva, em Eldorado, no
Vale do Ribeira, quase acabou com a palmeira
juara em suas matas. Um projeto desenvolvido
Vale do Ribeira
Mata Cap8.indd 272 2/23/06 11:56:05 PM
273
O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s
e
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
com o Instituto Socioambiental (ISA) possibilitou
aos moradores maximizar suas reas cultivveis
com banana orgnica (certifcada pelo Instituto
Biodinmico-IBD), utilizando tambm a palha
da bananeira para a confeco de artesanato.
Tambm esto investindo no turismo ambiental e
tnico (uma das grandes atraes no Quilombo a
capela construda no sculo XVII e tombada como
patrimnio histrico pelo Conselho de Defesa do
Patrimnio Histrico, Arqueolgico, Artstico e
Turstico do Estado de So Paulo (Condephaat).
Com mais alternativas de trabalho, muitos
cerca de duas vezes mais lucrativa do que o palmi-
to. Mais do que tudo, o projeto conseguiu fazer os
quilombolas voltarem a falar publicamente sobre
o palmito, j que como atividade clandestina era
um verdadeiro tabu dentro da comunidade. Com
recursos do Programa de Projetos Demonstrativos
(PDA-PPG7) do Ministrio do Meio Ambiente, o
projeto est sendo implantado tambm em outra co-
munidade vizinha, o Quilombo So Pedro, e a idia
que se transforme em um programa regional.
Conhea mais: www.socioambiental.org
Reserva Extrativista dos
Moradores do Bairro Mandira
O projeto implantado pela Associao Reser-
va Extrativista dos Moradores do Bairro Mandira
(Rema), no municpio de Canania, no Vale do
Ribeira, em So Paulo, tem como objetivo viabi-
lizar a implantao de uma reserva extrativista,
numa rea de 1.200 hectares, j reconhecida como
quilombo, visando melhorar a renda dos catadores
e criadores de ostras e conservar os manguezais
da regio.
Palmitojuara: cultivado pelos quilombolas
quilombolas abandonaram a extrao do pal-
mito-juara, antes a nica fonte de renda para
vrias famlias. Um trabalho de conscientizao
foi realizado junto comunidade, que passou a
trabalhar com o repovoamento do palmito em uma
rea piloto de 200 hectares em seu territrio. Des-
de 2002, mil quilos de sementes so coletadas e
plantadas pelos moradores a cada ano. O objetivo
conseguir, no mdio prazo, poder fazer o manejo
do palmito, que hoje no possvel porque a mata
no tem matrizes sufcientes.
Futuramente, pensam tambm em extrair a
polpa e depois continuar a usar as sementes no
enriquecimento das matas, atividade que pode ser
Produo de ostras em Canania
Mata Cap8.indd 273 2/23/06 11:56:40 PM
274
O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s
e
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
A Rema existe desde maro de 1995, quando
foram discutidas e apresentadas a proposta de
criao da reserva extrativista e a posterior ela-
borao do plano de desenvolvimento sustentado
da reserva.
A comunidade comeou a se organizar em
funo da necessidade de ajustar suas atividades
conservao ambiental e para impedir a espe-
culao imobiliria que ameaava a permanncia
dos moradores na regio. Em meados de 1995, a
associao assinou um termo de cooperao com
o Ncleo de Apoio Pesquisa Sobre Populaes
Humanas e reas midas Brasileiras (Nupaub),
que alm de apoio tcnico, viabilizou uma doa-
o fnlandesa para a implantao das primeiras
estruturas de crescimento de ostras e a compra de
uma embarcao. A implantao das estruturas
continuou com apoio da entidade Viso Mundial,
at atingir o patamar de produo atual. A produ-
o obtida analisada pelo Instituto Adolf Lutz e
conta com o monitoramento do Instituto de Pesca
de So Paulo.
A histrica marginalizao econmica do
Vale do Ribeira, em funo das caractersticas
naturais e de difculdades de acesso, entre outras,
contribuiu para a cristalizao da cultura local
cultura caiara - e para a alta porcentagem de
rea preservada de Mata Atlntica, chegando a
86% da regio.
O projeto benefcia diretamente 48 famlias
e indiretamente mais 80. Antes do incio da ati-
vidade da cooperativa, cada produtor recebia R$
0,65 por dzia de ostras, qualquer que fosse o
tamanho, e atualmente cada produtor recebe R$
1,05 para as pequenas, R$ 1,80 para as mdias e
R$ 2,50 para as grandes. Esses valores so pagos
em funo do valor comercializado e apontado
pelo Plano de Negcios realizado pela coopera-
tiva. Como a principal atividade da comunidade
relativa ao mangue, as reas secas de preservao
permanente esto muito bem conservadas e, pelo
mesmo motivo, mais de 80% da rea de infuncia
da comunidade est preservada.
Conhea mais: www. apremavi. com. br/
pmexpositivas.htm
Reserva da Biosfera da Mata
Atlntica
Reconhecida pela Organizao das Naes
Unidas para a Educao, Cincia e Cultura
(Unesco), em cinco fases sucessivas entre 1991
e 2002, a Reserva da Biosfera da Mata Atlntica
(RBMA) foi a primeira unidade da Rede Mundial
de Reservas da Biosfera declarada no Brasil. a
maior reserva da biosfera em rea forestada do
Planeta, com cerca de 35 milhes de hectares,
aproximadamente 30% do Bioma, abrangendo
reas de 15 dos 17 estados brasileiros onde ocorre
a Mata Atlntica, o que permite sua atuao na
escala de todo o bioma. Sua misso contribuir
e criar oportunidades para estabelecer uma rela-
o harmnica entre as sociedades humanas e o
ambiente na rea de Mata Atlntica.
Entre as funes da RBMA esto: a conserva-
o da biodiversidade e dos demais atributos natu-
rais da Mata Atlntica, incluindo a paisagem e os
recursos hdricos; a valorizao da scio-diversi-
dade e do patrimnio tnico e cultural e a ela vincu-
Bromlias
do gnero
Dyckia
Mata Cap8.indd 274 2/23/06 11:56:53 PM
275
O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s
e
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
lados; o fomento ao desenvolvimento econmico
para que este seja social, cultural e ecologicamente
sustentvel; o apoio a projetos demonstrativos,
produo e difuso do conhecimento, educao
ambiental e capacitao, pesquisa cientfca e o
monitoramento nos campos da conservao e do
desenvolvimento sustentvel.
A RBMA estende-se por mais de 5.000 dos
8.000 quilmetros do litoral brasileiro, desde
o Cear ao Rio Grande do Sul, avanando mar
afora, englobando diversas ilhas ocenicas, como
Fernando de Noronha, Abrolhos e Trindade, e
adentrando no interior de vrios estados costeiros,
bem como em Minas Gerais e Mato Grosso do
Sul. Encontra-se entremeada na rea mais urba-
nizada e populosa do Pas, tendo em seu entorno
cerca de 120 milhes de habitantes e atividades
econmicas que respondem por aproximadamente
70% do PIB brasileiro. Abrange reas de mais
de 1.000 dos 3.400 municpios englobados pelo
Domnio Mata Atlntica.
A Reserva da Biosfera da Mata Atlntica
inclui todos os tipos de formaes forestais e
outros ecossistemas terrestres e marinhos que
compem o Domnio, bem como os principais
remanescentes forestais e a maioria das unida-
des de conservao da Mata Atlntica, onde est
protegida grande parte da megabiodiversidade
brasileira. Suas zonas ncleo correspondem a
mais de 700 unidades de conservao de proteo
integral. Em suas zonas de amortecimento, vivem
alguns milhares de pessoas, em grande parte co-
munidades tradicionais.
Dadas suas grandes dimenses e complexi-
dade territorial, j estabelecidos nas suas fases
iniciais, um dos primeiros desafos da RBMA foi
a montagem de um sistema de gesto prprio que
assegurasse sua consolidao institucional, a des-
centralizao de suas aes e o desenvolvimento
em campo de projetos nas reas de conservao
da biodiversidade, da difuso do conhecimento e
da promoo do desenvolvimento sustentvel.
Em conseqncia de seu papel aglutinador e
articulador, a Reserva da Biosfera deixou de ser
apenas uma rea especialmente protegida, mas
tornou-se ela mesma uma importante instituio.
Sua gesto segue rgidos princpios de partici-
pao, descentralizao, transparncia, busca
de consensos e no superposio de atribuies
com instituies j existentes. Por outro lado, sua
administrao marcada pela fexibilidade e pela
desburocratizao. Todos seus rgos de deciso
so colegiados com participao simultnea e pa-
ritria entre entidades governamentais (federais,
estaduais e municipais) e setores organizados da
sociedade civil (ONGs, comunidade cientfca,
setor empresarial e populaes locais).
A RBMA coordena, sempre em conjunto
com parceiros, um grande conjunto de programas
tcnico-cientfcos e projetos demonstrativos em
campo.
guas e Florestas
O programa guas e Florestas promove a
integrao de polticas de gesto, conservao e
recuperao de recursos hdricos e forestais na
Mata Atlntica e desenvolve projetos em bacias
hidrogrfcas prioritrias, como a do Paraba do
Cachoeira
em Corup
SC
Mata Cap8.indd 275 2/23/06 11:57:13 PM
276
O
p
o
r
t
u
n
i
d
a
d
e
s
e
e
x
p
e
r
i
n
c
i
a
s
Sul, que est nos estados de So Paulo, Minas
Gerais e Rio de Janeiro.
Nessa bacia, o acordo foi feito atravs de um
Termo de Cooperao entre sete entidades ligadas
preservao ambiental e aos recursos hdricos,
com o objetivo de somar recursos e esforos
para reduzir a situao de escassez e degradao
na regio do Paraba do Sul. Alm da RBMA,
participam o Comit para Integrao da Bacia
Hidrogrfca do Rio Paraba do Sul (Ceivap),
WWF-Brasil, Fundao para Conservao e Pro-
duo Florestal do Estado de So Paulo, Fundao
SOS Mata Atlntica, Instituto Florestal do Estado
de So Paulo e Unesco-Brasil.
Entre as aes previstas esto a identifcao,
mapeamento e fortalecimento de programas de
conservao e recuperao de guas e forestas
na Bacia, alm da criao de um inventrio e
difuso das informaes sobre a relao guas e
forestas na regio.
Cooperao Internacional
Atravs do programa de Cooperao Inter-
nacional, o Conselho Nacional da Reserva da
Biosfera da Mata Atlntica vem participando de
vrios grupos de trabalho da Unesco e parceiros
(GT Agrobiodiversity, GT Emerging Ecossyste-
ms, GT Linkages in the landscape/seascape, GT
Urban/Mab, GT Ecossystem Aproach/CDB, GT
Quality Economy in Biosphere Reserves etc.).
Essa cooperao tem ocorrido tambm em pro-
jetos de reviso/reestruturao do Programa Man
and Biosfere (MaB/Unesco) e criao de grandes
reservas da biosfera em outros pases (Espanha,
Chile, Uruguai, Corredor Ecolgico Costa Rica-
Nicargua).
A RBMA, em parceria com o Comit
Brasileiro do Programa MaB (Cobramab) tem
colaborado igualmente para a consolidao das
redes regionais de reservas da biosfera, tendo
entre outras atividades organizado no Brasil o 1
Encontro das Reservas da Biosfera do Mercosul,
em 2000, e a 7 Reunio da Rede IBEROMaB,
em 2002.
Alm disso, a RBMA tem contribudo signif-
cativamente para o esforo brasileiro de obteno
de volumosos recursos internacionais para a Mata
Atlntica (BID, Bird, KfW etc.), bem como para o
reconhecimento e gesto de Stios do Patrimnio
Mundial neste bioma.
Recursos Florestais
O programa Recursos Florestais gerou o mais
completo inventrio dos aspectos ecolgicos,
econmicos e sociais relacionados ao uso dos
recursos forestais da Mata Atlntica e promoveu
o estabelecimento de padres e a primeira certi-
fcao ambiental de um recurso nativo da Mata
Atlntica, a erva-mate.
Turismo Sustentvel
O programa Turismo Sustentvel capacitou
mais de 150 jovens de comunidades locais para
atuar na rea, apoio criao de vrias associa-
es de guias de ecoturismo (monitores ambien-
tais) e de pousadas, promoveu intercmbio de
experincias e participou da elaborao das nor-
mas de certifcao do turismo sustentvel no
Brasil.
Conhea mais: www.rbma.org.br
Mata Cap8.indd 276 2/23/06 11:57:14 PM
277
S
a
i
b
a
i
d
e
n
t
i
f
c
a
r
Saiba
identifcar
Mata Cap9.indd 277 2/23/06 11:38:38 PM
278
S
a
i
b
a
i
d
e
n
t
i
f
c
a
r
reas protegidas
As reas protegidas so criadas para garantir
a sobrevivncia de todas as espcies de animais
e plantas, a chamada biodiversidade, e tambm
para proteger locais de grande beleza cnica,
como montanhas, serras, cachoeiras, canyons,
rios ou lagos. Alm de permitir a sobrevivncia
dos animais e plantas, essas reas contribuem
para regular o clima, abastecer os mananciais de
gua e proporcionar qualidade de vida s popu-
laes humanas. No Brasil, existem dois tipos
Parque Nacional de So Joaquim SC
de reas protegidas: as pblicas e as privadas ou
particulares.
Existem reas protegidas particulares em
razo de que no possvel criar reservas pblicas
em todos os lugares e tambm porque existem
certas reas que devem sempre ser protegidas,
independentemente de sua localizao, como por
exemplo as margens de rios, nascentes e topos
de morros. Nesse sentido, os dois tipos de reas
protegidas so complementares.
Prateleiras no Parque Nacional do Itatiaia RJ/MG
Perereca protegida em UC
Foto: Gabriela Schfer
Mata Cap9.indd 278 2/23/06 11:39:19 PM
279
S
a
i
b
a
i
d
e
n
t
i
f
c
a
r
As pblicas
As reas protegidas pblicas so chamadas
de unidades de conservao e so divididas em
diferentes categorias, de acordo com seus objeti-
vos. As categorias e os objetivos esto defnidos na
Lei 9.985, de 18-07-2000, que instituiu o Sistema
Nacional de Unidades de Conservao (SNUC).
Entre os objetivos, destacam-se: a manu-
teno da diversidade biolgica e dos recursos
genticos; a proteo das espcies ameaadas de
extino; a preservao e restaurao da diver-
sidade de ecossistemas naturais e degradados; a
promoo do desenvolvimento sustentvel a partir
dos recursos naturais; a valorizao econmica
e social da diversidade biolgica; a proteo de
paisagens naturais pouco alteradas e de notvel
beleza cnica; a proteo e recuperao dos recur-
sos hdricos; a promoo da educao ambiental e
do ecoturismo; o incentivo pesquisa cientfca;
e a proteo dos recursos naturais necessrios
sobrevivncia das populaes tradicionais.
atributos naturais. Nesse grupo, incluem-se as
estaes ecolgicas, reservas biolgicas, parques
nacionais, monumentos naturais e refgios de
vida silvestre.
Unidades de uso sustentvel Entende-se
como uso sustentvel a explorao do ambiente
de maneira a garantir a perenidade dos recursos
ambientais renovveis e dos processos ecolgicos,
mantendo a biodiversidade e os demais atributos
ecolgicos, de forma socialmente justa e econo-
micamente vivel. Nesse grupo, esto as reas de
proteo ambiental (APA), reas de relevante inte-
resse ecolgico (Arie), forestas nacionais (Flona),
reservas extrativistas (Resex), reservas de fauna e
reservas de desenvolvimento sustentvel.
A criao de unidades de conservao uma
ferramenta muito importante para a conservao
da biodiversidade. Apesar disso, um percentual
ainda muito pequeno da Mata Atlntica est
sob essa proteo. Existe uma concentrao de
unidades de conservao na foresta ombrfla
densa, enquanto que as forestas ombrfla mista
e as estacionais esto praticamente desprovidas
de proteo.
ARIE da
Serra da
Abelha
SC
A Lei do SNUC instituiu duas categorias de
unidades de conservao:
Unidades de proteo integral Entende-se
por proteo integral a manuteno dos ecossiste-
mas livres de alteraes causadas por interferncia
humana, admitindo apenas o uso indireto dos seus
RPPN Mata
do Sossego
MG
Mata Cap9.indd 279 2/23/06 11:39:43 PM
280
S
a
i
b
a
i
d
e
n
t
i
f
c
a
r
As particulares
Segundo a Constituio Federal, a conser-
vao e preservao da natureza obrigao
conjunta do poder pblico e dos cidados:
Artigo 225 - Todos tm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial
sadia qualidade de vida, impondo-se
ao Poder Pblico e coletividade o
dever de defend-lo e preserv-lo para
as presentes e futuras geraes.
Isto tambm alcana as forestas existentes
nas propriedades privadas, as quais, segundo o Ar-
tigo 1 do Cdigo Florestal Brasileiro (Lei 4.771,
de 15-09-1965), so bens de interesse comum a
todos os habitantes do Pas.
Artigo 1 - As forestas existentes no
territrio nacional e as demais formas
de vegetao, reconhecidas de utilida-
de s terras que revestem, so bens de
interesse comum a todos os habitantes
do Pas, exercendo-se os direitos de
propriedade com as limitaes que a
legislao em geral e especialmente
esta Lei estabelecem.
Segundo o Cdigo Florestal, todas as pro-
priedades privadas devem manter uma rea de
reserva legal e preservar as reas de preservao
permanente. Alm da reserva legal e das reas de
preservao permanente, que todos os propriet-
rios tm a obrigao de preservar, os proprietrios
podem, por vontade prpria, criar reservas parti-
culares do patrimnio natural (RPPN).
Reserva legal - a rea de cada propriedade
particular onde no permitido o desmatamento
(corte raso), mas que pode ser utilizada em forma
de manejo sustentado. A reserva legal uma rea
Reserva
legal
em rea
de Mata
Atlntica
necessria ao uso sustentvel dos recursos natu-
rais, conservao e reabilitao dos processos
ecolgicos, conservao da biodiversidade e ao
abrigo da fauna e fora nativas. Nas regies Sul,
Sudeste e Nordeste, onde ocorre a Mata Atlntica,
a Reserva Legal de 20% de cada propriedade;
na Amaznia de 80% para as reas onde ocorre
foresta e de 35% onde ocorre o cerrado.
A reserva legal permanente e deve ser aver-
bada em cartrio, margem do registro do imvel.
H algumas situaes em que os proprietrios que
j esto utilizando todo o imvel para fns agr-
colas ou pecurios podem compensar a reserva
legal em outras propriedades. A lei permite que a
compensao da reserva legal seja feita em outra
rea, prpria ou de terceiros, de igual valor ecol-
gico, localizada na mesma microbacia e dentro do
mesmo estado, desde que observado o percentual
mnimo exigido para aquela regio.
A compensao uma alternativa que pode
ser adotada de forma conjunta por diversos pro-
prietrios de uma microbacia. Permite a criao de
reas contnuas e maiores de reserva legal e possi-
bilita melhores condies para a sobrevivncia da
fauna e fora e para a proteo de mananciais.
Mata Cap9.indd 280 2/23/06 11:39:47 PM
281
S
a
i
b
a
i
d
e
n
t
i
f
c
a
r
reas de preservao permanente - So
reas de grande importncia ecolgica e social,
que tm a funo de preservar os recursos h-
dricos, a paisagem, a estabilidade geolgica, a
biodiversidade, o fuxo gnico da fauna e fora,
proteger o solo e assegurar o bem-estar das po-
pulaes humanas.
O Artigo 2 do Cdigo Florestal considera
de preservao permanente as seguintes reas,
cobertas ou no por vegetao nativa, localizadas
nas reas rurais e urbanas:
a) ao longo de cada lado dos rios ou de outro
qualquer curso de gua, em faixa marginal, cuja
largura mnima dever ser:
de 30 metros para os cursos de gua de menos
de 10 metros de largura;
de 50 metros para os cursos de gua que tenham
de 10 a 50 metros de largura;
de 100 metros para os cursos de gua que tenham
de 50 a 200 metros de largura;
de 200 metros para os cursos de gua que tenham
de 200 a 600 metros de largura;
de 500 metros para os cursos de gua que tenham
largura superior a 600 metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatrios de
gua naturais ou artifciais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos
chamados olhos de gua, qualquer que seja
a situao topogrfca, num raio mnimo de 50
metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou parte destas com declividade
superior a 45, equivalente a 100% na linha de
maior declive;
f) nas restingas, como fxadoras de dunas ou es-
tabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir
da linha de ruptura do relevo, em faixa nunca in-
ferior a 100 metros em projees horizontais;
h) em altitudes superiores a 1.800 metros, qual-
quer que seja a vegetao;
Campos de altitude
Topos de morro em encosta
Manguezal
Mata Cap9.indd 281 2/23/06 11:40:00 PM
282
S
a
i
b
a
i
d
e
n
t
i
f
c
a
r
Reserva particular do patrimnio natural
- As reservas particulares do patrimnio natural
(RPPNs) so reservas privadas que tm como
objetivo preservar reas de importncia ecolgi-
ca ou paisagstica. So criadas por iniciativa do
proprietrio, que solicita ao rgo ambiental o
reconhecimento de parte ou do total do seu imvel
como RPPN. A RPPN perptua e tambm deve
ser averbada no cartrio, margem do registro
do imvel.
Diferente da reserva legal, onde pode ser fei-
to uso sustentvel dos recursos naturais, inclusive
de recursos madeireiros, na RPPN s podem ser
desenvolvidas atividades de pesquisa cientfca,
ecoturismo, recreao e educao ambiental.
A rea transformada em RPPN torna-se isen-
ta do Imposto Territorial Rural (ITR) e o proprie-
trio pode solicitar auxlio do poder pblico para
elaborar um plano de manejo, proteo e gesto
da rea. Os proprietrios tambm no precisam
pagar ITR sobre as reservas legais e reas de
preservao permanente conforme dispe a Lei
9.393, de 19-12-1996.
Corredores ecolgicos - Corredores ecolgi-
cos so reas que unem os remanescentes fores-
tais possibilitando o livre trnsito de animais e a
disperso de sementes das espcies vegetais. Isso
permite o fuxo gnico entre as espcies da fauna e
fora e a conservao da biodiversidade. Tambm
garantem a conservao dos recursos hdricos e
do solo, alm de contribuir para o equilbrio do
clima e da paisagem. Os corredores podem unir
unidades de conservao, reservas particulares,
reservas legais, reas de preservao permanente
ou quaisquer outras reas de forestas naturais.
O conceito de corredor ecolgico novo
no Brasil, mas sua aplicao de extrema im-
portncia para a recuperao e preservao da
Mata Atlntica, j que os remanescentes esto
espalhados por milhares de pequenos e mdios
fragmentos forestais. Esses fragmentos so ilhas
de biodiversidade que guardam as informaes
biolgicas necessrias para a restaurao dos
diversos ecossistemas que integram o bioma.
rea de mata ciliar
RPPN Serra do Pitoco SC
Nesse sentido, sempre que no existe ligao
entre um fragmento forestal e outro, importante
que seja estabelecido um corredor entre esses
fragmentos e a rea seja recuperada com o plan-
tio de espcies nativas ou atravs da regenerao
natural. Os corredores ecolgicos podem ser cria-
dos para estabelecer ou para manter a ligao de
grandes fragmentos forestais, como as unidades
de conservao e tambm para ligar pequenos
Mata Cap9.indd 282 2/23/06 11:40:24 PM
283
S
a
i
b
a
i
d
e
n
t
i
f
c
a
r
modelo de gesto integrada, participativa e susten-
tvel dos recursos naturais, para reas pblicas e
privadas, que tem como objetivos a preservao
de biodiversidade, o desenvolvimento sustent-
vel e a pesquisa cientfca, sendo constituda por
zonas ncleo, zonas de amortecimento e zonas
de transio.
Existem algo em torno de 400 reservas da
biosfera distribudas em 81 pases. No Brasil,
alm da Reserva da Biosfera da Mata Atlntica,
que inclui a do Cinturo Verde da Cidade de So
Paulo, existem as da Amaznia Central, Caatinga,
Cerrado e Pantanal.
A Reserva da Biosfera da Mata Atlntica foi
a primeira reconhecida pela Unesco no Brasil, em
outubro de 1991, abrangendo aproximadamente
uma rea de 29 milhes de hectares, desde o Cear
ao Rio Grande do Sul (ver pg. xxx).
fragmentos dentro de uma mesma propriedade
ou microbacia. Um meio fcil de criar corredores
atravs da manuteno ou da recuperao das
matas ciliares, consideradas reas de preserva-
o permanente, que ultrapassam as fronteiras
das propriedades e dos municpios. Atravs das
matas ciliares possvel estabelecer conexo com
as reservas legais e outras reas forestais dentro
das propriedades.
Mata ciliar protege a gua
Reserva legal: importante na propriedade
A aplicao correta do Cdigo Florestal
quanto manuteno ou recuperao das reas de
preservao permanente e reservas legais permite
que se faa um planejamento da paisagem por
microbacia ou por municpio, mantendo todas as
forestas interligadas. O planejamento da paisa-
gem pode ser feito de maneira participativa entre
os proprietrios, autoridades pblicas e organiza-
es no-governamentais.
Reserva da Biosfera da Mata Atlntica
Segundo o Sistema Nacional de Unidades de
Conservao (SNUC), a reserva da biosfera um
Corredores
ecolgicos
ajudam a
preservar
espcies
Mata Cap9.indd 283 2/23/06 11:40:35 PM
284
S
a
i
b
a
i
d
e
n
t
i
f
c
a
r
A foresta primria, tambm conhecida como
foresta clmax ou mata virgem, a foresta intoca-
da ou aquela em que a ao humana no provocou
signifcativas alteraes das suas caractersticas
originais de estrutura e de espcies.
A Mata Atlntica primria caracteriza-se
pela grande diversidade biolgica, pela presena
de rvores altas e grossas, pelo equilbrio entre
as espcies pioneiras, secundrias e climcicas,
pela presena de grande nmero de bromlias,
orqudeas, cactos e outras plantas ornamentais
em cima das rvores.
As forestas secundrias so aquelas resul-
tantes de um processo natural de regenerao da
vegetao, em reas onde no passado houve corte
raso da foresta primria. Nesses casos, quase sem-
pre as terras foram temporariamente usadas para
agricultura ou pastagem e a foresta ressurge espon-
taneamente aps o abandono dessas atividades.
Tambm podem ser consideradas secundrias
as forestas muito descaracterizadas por explorao
madeireira irracional ou por causas naturais, mesmo
que nunca tenha havido corte raso e que ainda ocor-
ram rvores remanescentes da vegetao primria.
A grande maioria dos remanescentes de
Mata Atlntica ainda existentes nas pequenas
e mdias propriedades agrcolas composta de
forestas secundrias, em diferentes estgios de
desenvolvimento:
Capoeirinha ou estgio inicial
de regenerao
A capoeirinha surge logo aps o abandono de
uma rea agrcola ou de uma pastagem. Esse estgio
geralmente vai at seis anos, podendo em alguns
casos durar at dez anos em funo do grau de de-
gradao do solo ou da escassez de sementes.
Nas capoeirinhas geralmente existem gran-
des quantidades de capins e samambaias de cho.
Predominam tambm grandes quantidades de
exemplares de rvores pioneiras de poucas esp-
cies, a exemplo das vassouras e vassourinhas. A
altura mdia das rvores em geral no passa dos
4 metros e o dimetro de 8 centmetros.
Capoeira ou estgio mdio de
regenerao
A vegetao em regenerao natural geral-
mente alcana o estgio mdio depois dos seis
anos de idade, durante at os 15 anos. Nesse
estgio, as rvores atingem altura mdia de 12
metros e dimetro de 15 centmetros.
Nas capoeiras, a diversidade biolgica au-
menta, mas ainda h predominncia de espcies
de rvores pioneiras como as capororocas, ings
e aroeiras. A presena de capins e samambaias
diminui, mas em muitos casos resta grande
presena de cips e taquaras. Nas regies com
altitude inferior a 600 metros do nvel do mar, os
palmiteiros comeam a aparecer.
Capoeiro ou estgio
avanado de regenerao
Inicia-se geralmente depois dos 15 anos de
regenerao natural da vegetao, podendo levar
de 60 a 200 anos para alcanar novamente o
estgio semelhante foresta primria. A diversi-
dade biolgica aumenta gradualmente medida
que o tempo passa e que existam remanescentes
primrios para fornecer sementes. A altura mdia
das rvores superior a 12 metros e o dimetro
mdio superior a 14 centmetros.
Nesse estgio, os capins e samambaias de
cho no so mais caractersticos. Comeam a
emergir espcies de rvores nobres, como canelas,
cedros, sapucaias e imbuias. Nas regies abaixo
de 600 metros do nvel do mar, os palmiteiros
aparecem com freqncia. Os cips e taquaras
passam a crescer em equilbrio com as rvores.
Estgios sucessionais
Mata Cap9.indd 284 2/23/06 11:40:36 PM
285
S
a
i
b
a
i
d
e
n
t
i
f
c
a
r
A Comisso Mundial sobre Meio Ambiente
e Desenvolvimento, criada em 1983 e presidida
por Gro Harlem Brundtland, primeira ministra
da Noruega, defniu, no livro Nosso Futuro Co-
mum, desenvolvimento sustentvel como sendo
o desenvolvimento onde a humanidade seja capaz
de garantir o atendimento das necessidades da
presente sem comprometer a capacidade de as
geraes futuras atenderem tambm s suas.
um processo rpido, que d resultados em poucos
meses ou poucos anos. Em geral, os resultados s
comeam a aparecer depois de 3, 5 ou 10 anos e
isso implica em investimentos.
Para falar em uso ou manejo sustentvel de
recursos forestais da Mata Atlntica, necessrio
fazer uma distino entre recursos madeireiros
e no-madeireiros e, ainda, usos para atender as
necessidades internas das propriedades ou das
populaes tradicionais e manejo com fnalidade
comercial.
A explorao comercial de
madeira nativa na Mata
Atlntica possvel?
A resposta no para as reas naturais
remanescentes. A resposta sim para forestas
plantadas, sejam de espcies exticas ou nativas.
O problema que quase no existem forestas
plantadas de espcies nativas, pois historicamente
o setor madeireiro agiu sem planejamento e sem
viso de longo prazo.
Cidades precisam se planejar para futuras
geraes
Num bioma como a Mata Atlntica onde a
cobertura forestal nativa foi reduzida a 7,84%,
comprometendo altamente o estoque dos recursos
naturais, torna-se ainda mais complexo o processo
de alcanar o desenvolvimento sustentvel. Nesse
caso, no basta apenas planejar o uso adequado
dos recursos ainda existentes, pois j so insuf-
cientes para atender s necessidades da atual gera-
o. Para a maioria dos recursos da fora e tambm
da fauna da Mata Atlntica, necessrio, antes
de mais nada, recuperar ou restaurar forestas e
ecossistemas para depois fazer uso sustentado dos
seus recursos. A recuperao e restaurao no so
Espcies
nativas
podem e
devem ser
plantadas
Manejo sustentvel
Mata Cap9.indd 285 2/23/06 11:41:00 PM
286
S
a
i
b
a
i
d
e
n
t
i
f
c
a
r
O engenheiro forestal Srgio Ahrens, pesqui-
sador em Biometria e Manejo Florestal do Centro
Nacional de Pesquisa de Floresta da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuria (Embrapa),
explica que:
no manejo de forestas naturais, e no
mbito da sustentabilidade, o objetivo
mais elevado na hierarquia deve ser
a conservao da cobertura forestal
e da sua capacidade regenerativa;
apenas depois vir a produo... Na
prtica do manejo forestal no Brasil,
constata-se, de fato, uma eroso gen-
tica: quando os melhores indivduos, e
apenas de determinadas espcies tidas
como comerciais, so objeto de corte e
comercializao.
O professor Paulo Kageyama nos ensina
que:
...A foresta tropical, tal como a maio-
ria dos ecossistemas nas regies entre
os trpicos, em funo da sua altssima
diversidade de espcies e principalmen-
te devido s suas complexas interaes
entre organismos, apresenta grandes
difculdades de aes nas mesmas que
sejam sustentveis...
...O manejo sustentvel deve no s
atender os requisitos econmicos e
ecolgicos, como tambm os aspectos
sociais, deve portanto ser economi-
camente vivel, socialmente justo e
ecologicamente defensvel. O aspecto
ecolgico do manejo diz respeito no
s integridade das populaes da(s)
espcie(s) em explorao, mas tambm
aos outros recursos potenciais e tam-
bm biodiversidade. Isso significa
que devemos cuidar da manuteno do
equilbrio das populaes das espcies
da foresta, tanto no seu aspecto demo-
grfco como gentico, principalmente,
mas no s, das espcies em uso.
...O estado atual de conservao da
Mata Atlntica, com somente cerca de
7% de sua cobertura original, aponta
altssima prioridade para a conserva-
o in situ. As reas remanescentes des-
se ecossistema (unidades de conserva-
o e reas particulares) representam,
sem dvida, ainda uma grande fonte
de biodiversidade, no entanto, pouco
ainda se sabe sobre a efetividade da
conservao gentica das espcies que
restam nessas reas.
Manejo de produtos
no-madeireiros
Na Mata Atlntica, existem inmeros produ-
tos que podem ser manejados de forma sustentvel
atravs do cultivo e, em alguns casos, colhidos em
reas de forestas naturais. Pode-se citar os sucos
de pitanga, caju e maracuj, plantas medicinais
como a espinheira santa, a carqueja, o chapu de
couro e a pariparoba, o chimarro fabricado da
folha da erva-mate, o palmito, frutas como a ja-
buticaba, a goiaba, os aras e os ings, sementes
comestveis como o pinho, artesanato de taquara,
piaava e cips, plantas ornamentais como orqu-
deas, bromlias, helicnias, xaxim, samambaias
silvestres e centenas de outras.
Bromlia:
espcie
ornamental
Mata Cap9.indd 286 2/23/06 11:41:13 PM
287
S
a
i
b
a
i
d
e
n
t
i
f
c
a
r
Frutferas nativas da Mata Atlntica so uma
tima alternativa para plantios com fns
econmicos
Algumas dessas plantas j so domestica-
das, como o caju e o maracuj. Outras, como a
erva-mate, o palmito e a piaava, encontram-se
exploradas tanto em cultivos quanto em reas
naturais.
A explorao de tais produtos, alm de forne-
cer alimentos, conforto, sade, prazer, signifcam
a gerao de empregos e renda para brasileiros
e de divisas de exportao para o Pas. Tudo
depende da nossa capacidade de saber manejar
esses recursos respeitando a capacidade da natu-
reza repor seus estoques e manter suas funes
ecolgicas.
Qualquer uso ou manejo de espcies em reas
naturais exige conhecimentos tcnicos e cientf-
cos e um cuidado redobrado com o conjunto das
espcies ali existentes, devido interao entre
elas. Infelizmente, ainda hoje a maioria das explo-
raes de espcies como o palmito, as orqudeas,
o xaxim, as bromlias e outras, quando realizadas
em reas naturais, acontecem de forma predatria
e no sustentvel. Isso deve-se a dois fatores prin-
cipais: a) falta de conhecimentos cientfcos sobre
a espcie a manejar e de conhecimentos tcnicos
sobre como fazer o manejo sustentvel; b) viso
apenas imediatista e falta de compromisso com
as geraes vindouras.
Espcies importantes
para manejo e conservao
O palmito-juara (Euterpe edulis Martius)
ocorre na foresta ombrfla densa e nas forestas
estacionais, do Rio Grande do Sul at o sul da
Bahia. uma espcie chave para a conservao
e recuperao da Mata Atlntica, por apresentar
grande densidade de indivduos, podendo atingir
cerca de 10.000 indivduos por hectare, incluindo
as plntulas. Sementes
de juara
Mata Cap9.indd 287 2/23/06 11:41:50 PM
288
S
a
i
b
a
i
d
e
n
t
i
f
c
a
r
Por ser uma planta escifla exige a existncia
de um dossel arbreo contnuo, com sombra, alta
umidade relativa do ar e do solo, para que suas
sementes possam germinar e crescer.
O enriquecimento de forestas secundrias
pode ser feito atravs da semeadura de sementes
ou atravs do plantio de mudas produzidas em vi-
veiros. O processo mais barato e mais efciente no
sentido de favorecer a uma seleo edafo-climti-
ca de cada indivduo o lanamento de sementes
recm-coletadas, em torno de 2 quilogramas por
hectare, durante, no mnimo, os primeiros cinco
anos. Isso vai contribuir para uma menor predao
e uma estimativa de sobrevivncia de 30% das
sementes lanadas, ou seja, a emergncia de mais
ou menos 750 plntulas/ha/ano. Outro mtodo
barato o plantio de mudas de razes nuas, que
podem atingir sobrevivncia de at 60%. Nesse
caso, sugere-se um plantio mais denso, cerca de
3.000 plantas/ha/ano, durante os primeiros trs
anos, ou um plantio alternado, ano sim, ano no,
em trs plantios.
O mtodo de grande efccia, porm um
pouco mais caro, o plantio de mudas produzidas
em viveiros. Este mtodo garante resultados em
menor prazo e recomendado para reas onde
j no existam mais exemplares de palmito na
natureza.
Devido produo de frutos durante seis
meses no ano e esses serem muito procurados pela
fauna, o enriquecimento de reas com esta espcie
representa uma fator positivo para o aumento da
biodiversidade das forestas secundrias, uma vez
que o palmito atrair muitos animais para a comu-
nidade forestal, aumentando as probabilidades de
chegada de sementes de outras espcies forestais
de estgios mais avanados, contribuindo para um
maior potencial econmico da rea.
Por ser uma espcie de ciclo forestal consi-
derado curto, cuja colheita pode comear oito anos
aps o plantio, associada a um bom rendimento
econmico, tem grande potencial para enriquecer
as forestas secundrias, que em geral apresentam
baixa produtividade de produtos de interesse
econmico e normalmente so consideradas de
pouco valor pelos proprietrios.
O enriquecimento de forestas secundrias
acelera o processo de recuperao
Exemplo de
recuperao
em mata
ciliar, antes e
depois.
Mata Cap9.indd 288 2/23/06 11:42:46 PM
289
O
N
G
s
n
a
R
e
d
e
ONGs na Rede
Relao de organizaes no-governamentais fliadas Rede de ONGs da Mata Atlntica, por localizao
Alagoas
Associao Macambira de Proprietrios de Reser-
vas Privadas
Rua Professor Jos da Silva Camerino, 464, Farol, Macei
(AL)
CEP: 57055-900
Colnia de Pescadores Z - 8
Fone: (82) 265-3043
Rua Lus Ramos, s/n, Pilar (AL)
CEP: 57150-000
Instituto de Preservao da Mata Atlntica
(IPMA)
Fone: (82) 241-5835
Fax: (82) 241-5835
Rua Professor da Silveira Camerino, 464, Farol, Macei
(AL)
CEP: 57.055-630 Farol, Macei (AL)
E-mail: sac@ipma.org.br
Site: www.ipma.org.br
Instituto GTAE para Gesto em Tecnologias Apro-
priadas e Ecologia
Fone: (82) 530-1508
Fax: (82) 530-1508
Rua Antnio Flix da Silva, 186, Cacimbas, Arapiraca
(AL)
CEP: 57304-570
E-mail: mgagrobio@ig.com.br
Instituto Murici de Desenvolvimento Integrado
Fone: (82) 315-2680
Fax: (82) 315-2680
Rua Desportista Humberto Guimares, 425, Macei (AL)
CEP: 57035-030
E-mail: marceloribeiro_6@hotmail.com
Bahia
Associao Cultural Cabrlia Arte e Ecologia
(Ascae)
Fone: (73) 282-2656/282-1355
Fax: (73) 282-1355
Rua Nova, 36, Centro, Santa Cruz Cabrlia (BA)
CEP: 45810-000
E-mail: ascae.bahia@bol.com.br
Site: www.ascae.com.br
Associao de Moradores Projeto Ona
Fone: (75) 664-1694
Fax: (75) 664-1013
Rua Comendador Oliva, s/n, Tapero (BA)
CEP: 45-430-000
E-mail: reiber@terra.com.br
Associao de Proprietrios de Reservas Paticula-
res da Bahia (Preserva)
Fone: (73) 3633-7114
Fax: (73) 3633-7114
Rua Eustquio Bastos, 59, sala 8, Centro, Ilhus (BA)
CEP: 45653-020
E-mail: preservaba@yahoo.com.br
Site: www.preserva.org.br
Associao Patax de Ecoturismo
Fone: (73) 672-1058
Fax: (73) 679-1257
BR 367, Km 75, Chal 3, Conjunto Cultural Patax Coroa
Vermelha, Santa Cruz Cabrlia (BA)
CEP: 45807-000
E-mail: aspectur@bol.com.br
Associao Pradense de Proteo Ambiental
(APPA)
Fone: (73) 298-1647/9986-5178
Rodovia Prado-Itamaraju, Km 1,5, Ribeira (BA)
CEP: 45980-000
E-mail: appa@pradonet.com.br
Associao Rdio Comunitria Avante
Fone: (75) 334-1386
Fax: (75) 334-1386
Rua Miguel de Julieta, s/n, Tomba Surro, Lenis, Chapada
Diamantina (BA)
CEP: 46960-000
E-mail: avantelencois@holistica.com.br
Casa Baiana para a Integrao Cultural Latino-
Americana (Cabincla)
Fone: (71) 231-2841/1677
Fax: (71) 321-1677
Lote 2 3 4, Quadra E, Rua da Conceio, Volta do Robalo,
Arembepe (BA)
CEP: 40025-090
E-mail: umuaramacase@ig.com.br
Centro de Desenvolvimento Ecolgico Agroecol-
gico do Extremo Sul da Bahia Terra Viva
Fone: (73) 294-1963
Fax: (73) 294-3777
Rua Liberdade, 657, Liberdade, Itamaraju (BA)
CEP: 45836-000
E-mail: terraviva@dstech.com.br
Ongs na rede(1).indd 289 2/23/06 11:29:37 PM
290
O
N
G
s
n
a
R
e
d
e
Centro de Educao Ambiental So Bartolomeu
(Ceasb)
Fone: (71) 354-6306
Rua Joo Gomes, 87, Free Shop, sala 10 C, Rio Vermelho,
Salvador (BA)
CEP: 41950-000
E-mail: ceasb@ceasb.org.br
Centro de Estudos e Pesquisa para o Desenvolvi-
mento do Extremo Sul da Bahia (Cepedes)
Fone: (73) 3281-2768
Fax: (73) 3281-2768
Rua Paulino Mendes Lima, 53, Anexo, Centro, Eunpolis
(BA)
CEP: 45820-000
E-mail: cepedes@cepedes.org.br
Centro de Estudos Scio Ambientais - Pangea
Fone: (71) 461-7744
Rua dos Rdios Amadores, s/n, Salvador (BA)
CEP: 40060-180
E-mail: pangea@svn.com.br
Site: www.pangea.org.br
Flora Brasil
Fone: (73) 679-1257
Fax: (73) 679-1257
Rua So Pedro, 18, Cx Postal 74, Centro, Porto Seguro
(BA)
CEP: 45810-000
E-mail: forabrasil@forabrasil.org.br
Site: www.forabrasil.org.br
Fundao Biobrasil
Fone: (71) 379-0484
Fax: (71) 379-0484
Av. Praia de Itapoan, Q17, L2, S103, Lauro de Freitas
(BA)
CEP: 42700-000
E-mail: biobrasil@biobrasil.org
Site: www.biobrasil.org
Fundao Ondazul
Fone: (71) 321-3122
Fax: (71) 321 -3122
Ladeira da Misericrdia, 7, S, Salvador (BA)
CEP: 40020-030
E-mail: salvador@ondazul.org.br
Site: www.ondazul.org.br
Fundao Terra Mirim
Fone: (71) 396-9810
Fax: (71) 396-3785
Rodovia BA 093, KM 7, Simes Filho (BA)
CEP: 43700-000
E-mail: terramirim@terramirim.org.br
Site: www.terramirim.org.br
Grupo Ambiental Natureza Bela de Itabela - Na-
tureza Bela
Fone: (73) 270-2215
Fax: (73) 270-2215
Av. Castro Alves, 20, sala 1, Centro, Itabela (BA)
CEP: 45848-000
E-mail: naturezabela@hotmail.com
Site: www.naturezabela.org.br
Grupo Ambientalista da Bahia (Gamb)
Fone: (71) 240-6822
Fax: (71) 240-6822
Av. Juracy Magalhes Jnior, 768, s/102, Ed. RV Center,
Rio Vermelho, Salvador (BA)
CEP: 41940-060
E-mail: gamba@gamba.org.br
Site: www.gamba.org.br
Grupo Ambientalista Ecoterra (Ecoterra)
Fone: (71) 337-2760
Fax: (71) 337-2760
Tv. Ldio Mesquita, n 1, Rio Vermelho, Salvador (BA)
CEP: 40210-100
E-mail: egval@terra.com.br
Grupo Ambientalista Guigui (Guigui)
Fone: (75) 526-1942
Fax: (71) 244-0868
Rua Cel. Antonio Felipe de Melo, 98, Maragojipe (BA)
CEP: 44420-000
E-mail: redeguigui@yahoo.com.br
Grupo de Defesa Ambiental (Grudeam)
Fone: (71) 231-2821
Rua G. Maquende, lote 5 - Q. 42, Jardim Armao, Sal-
vador (BA)
CEP: 41760-060
E-mail: grudeam@pop.com.br
Grupo de Recomposio Ambiental (Germem)
Fone: (71) 347-3616/8803-1217
Rua Igncio Accioly, 26, Pelourinho, Salvador (BA)
CEP: 40025-100
E-mail: gesoro@terra.com.br
Grupo de Resistncia Ag. Meio Ambiente (Gra-
ma)
Fone: (73) 617-1361/211-9091
Fax: (73) 211 -9091
Rua Ruffo Galvo, 155, Ed. Dilson Cortir, Centro, sala
306, Itabuna (BA)
CEP: 5600-195
E-mail: grama@nuxnet.com.br
Grupo Ecolgico Copioba (Copioba)
Fone: (75) 621-1496
Fax: (75) 621-1496
Rua Manoel Caetano Passos, 243A, Cruz das Almas (BA)
Ongs na rede(1).indd 290 2/23/06 11:29:37 PM
291
O
N
G
s
n
a
R
e
d
e
CEP: 44380-000
E-mail: nunes@cdlmma.com.br
Grupo Ecolgico Cariris
Fone: (75) 639-2180/639-2118
Praa da Bandeira, 72, Centro, Santa Terezinha (BA)
CEP: 44590-000
E-mail: cariris@starmedia.com
Grupo Ecolgico Rio de Contas (GERC)
Fone: (73) 3527-6953
Fax: (73) 3527-6953
Av. Rio Branco, 498, sala 2, Centro, Jequi (BA)
CEP: 45200-000
E-mail: domingosailton@yahoo.com.br
Site: www.gerc.kit.net
Instituto de Ao Ambiental da Bahia (Iamba)
Fone: (71) 3337-2135
Fax: (71) 3336-1448
Av. Arajo Pinho, 498, sala 105, Canela, Salvador (BA)
CEP: 40110-150
E-mai : iamba@bol.com.br
Site: www.iamba.org.br
Instituto de Ecosustentao Cultural (Ecodra-
mas)
Fone: (71) 345-2080/345-5183
Fax: (71) 345-2080/9111-1502
Rua Tamoios, 96, Rio Vermelho, Salvador (BA)
CEP: 41940-040
E-mail: nanipac@uol.com.br,
jccapinan@uol.com.br
Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da
Bahia (IESB)
Fone: (73) 634-2179
Fax: (73) 634-2179
Rua Major Homen Del Rey, 147, Cx. Postal 171, Cidade
Nova, Ilhus
CEP: 45650-000
E-mail: iesb@iesb.org.br
Site: www.iesb.org.br
Instituto Uirau (Uirau)
Fone: (73) 633-6953
Fax: (73) 633-6953
Av. Bahia, 172, Cidade Nova, Ilhus (BA)
CEP: 45650-000
E-mail: rppnserrabonita@yahoo.com.br
Jupar - Assessoria Agroecolgica (Jupar)
Fone: (73) 634-1385
Av. Ubaitaba, 410, Malhado, Ilhus (BA)
CEP 45651-520
E-mail: juparaeco@uol.com.br
Movimento de Defesa de Porto Seguro (MDPS)
Fone: (73) 288-1727
Rua Pero Vaz de Caminha, 112, Centro, Porto Seguro
(BA)
CEP: 45810-000
E-mail: mdpseguro@uol.com.br
Organizao Pr-Defesa e Estudo dos Manguezais
da Bahia (Ordem)
Fone: (73) 3211-4292/3214-3320
Fax: (73) 3214-3325
Km 22 Rodovia Ilhus/Itabuna, Caixa Postal 7 - Itabuna (BA)
CEP: 45600-000
E-mail: ordem@ceplac.gov.br
Site: www.ordemangue.cjb.net
Organizao Scio-Ambientalista Jogue Limpo
Fone: (71) 3286-4088
Rua Jorge Amado, s/n, Praa Carlos Bastos, sala 2, Pedra
do Sal, Itapu, Salvador (BA)
CEP: 41620-000
E-mail: joguelimpo@joguelimpo.org.br
Site: www.joguelimpo.org.br
Programa de Proteo de Fauna Silvestre (Guar-
dio)
Fone: (71) 3342-7367
Fax: (71) 3461-1490
Stio Pombal, Pituau, Caixa Postal 7314, Salvador (BA)
CEP: 41811-970
E-mail: gerson@guardiao.org
Site: www.guardiao.org
Servio de Assessoria a Organizaes Populares
Rurais (Sasop)
Fone: (71) 335-6049
Fax: (71) 335-6049
Rua Conquista, 132, Parque Cruz Aguiar, Rio Vermelho,
Salvador (BA)
CEP: 41940-610
E-mail: sasop@sasop.org.br
Site: www.sasop.org.br
Sociedade Ambientalista da Lavoura Cacaueira
(Salva)
Fone: (73) 283-1663
Caixa Postal 134, Camacan (BA)
CEP: 45880-000
E-mail: maxdocarmo@hotmail.com
Site: www.salvacacau.hpg.ig.com.br
Sociedade Amigos do Arraial DAjuda
Fone: (73) 575-1298
Fax: (73) 575-1116
Cx. Postal 74, Porto Seguro (BA)
CEP: 45810-000
E-mail: famboyant@portonet.com.br
Ongs na rede(1).indd 291 2/23/06 11:29:38 PM
292
O
N
G
s
n
a
R
e
d
e
Sociedade de Estudos dos Ecossistemas e Desen-
volvimento Sustentvel (Seeds)
Fone: (75) 621-6686
Rua Professor Matta Pereira, 184, Cruz das Almas (BA)
CEP: 44380-000
E-mail: seedsbahia@uol.com.br
Cear
Aquasis
Fone: (85) 318-6011/9625
Fax: (85) 318-6002
Praia de Iparana, s/n, Sesc Iparana, Caucaia (CE)
CEP: 61600-000
E-mail: aquasis@aquasis.org
Associao Alternativa Terrazul (Terrazul)
Fone: (85) 3272-3613
Rua Dr. Ratisbona, 72, bairro de Ftima (CE)
E-mail: alternativaterrazul@terra.com.br
Site: www.terrazul.m2014.net
Associao Serras midas do Estado do Cear
(Assuma)
Fone: (85) 341-3354
Rua Juscelino Kubistchek, 361, Parque Santa F, Maran-
guape (CE)
CEP: 61940-000
E-mail: festal2003@bol.com.br
Site: www.serrasumidas.org.br
Fundao Cultural Educacional Popular em Defesa
do Meio Ambiente (Cepema)
Fone: (85) 223-8005
Fax: (85) 281-2346
Rua Cratus, 1250, Fortaleza (CE)
CEP: 60455-780
E-mail: cepema@attglobal.net
Instituto Ambiental de Estudos e Assessoria
Fone: (85) 276-3185/9989-7292
Rua Bill Cartaxo, 165, Alagadio Novo, Fortaleza (CE)
CEP: 60831-291
E-mail: geovanacartaxo@uol.com.br,
zanteixeira@hotmail.com
Instituto Cultural Martins Filho (Urca)
Fone: (88) 523-1677
Rua Cel. Antnio Luiz, 1.161, Pimenta, Crato (CE)
CEP: 63100-000
E-mail: urca@urca.br
Instituto Terramar
Fone: (85) 226-4154
Fax: (85) 226-2476
Rua Pinho Pessoa, 86, Joaquim Tvora , Fortaleza (CE)
CEP: 60135170
E-mail: terramar@fortalnet.com.br
Distrito Federal
Centro de Trabalho Indigenista (CTI)
Fone: (61) 349-7769
Fax: (61) 347-5559
CLN 210, bloco C, salas 217/218, Braslia (DF)
CEP: 70862-530
E-mail: cti@trabalhoindigenista.org.br
WWF Brasil
Fone: (61) 364-7400
Fax: (61) 364-7474
SHIS EQ QL 06/08, Conj. E, 2 andar, Lago Sul, Braslia
(DF)
CEP: 71620-430
E-mail: panda@wwf.org.br
Site: www.wwf.org.br
Esprito Santo
Associao Amigos do Capara
Fone: (28) 3552-1488
Fax: (28) 3552-1488
Av. Jernimo Monteiro, 113, Centro, Alegre (ES)
CEP: 29500-000
E-mail: acap@forumdasongs.org.br
Associao Barrense de Canoagem (ABC)
Fone: (27) 8813-0948
Fax: (27) 3229-5522
Rua Goinia, 556, apto. 201, Ed. Julio Verne, Itapo, Vila
Velha (ES)
CEP: 29101-780
E-mail: duarpignaton@ig.com.br
Associao Colatinense de Defesa Ecolgica (Aco-
de)
Fone: (27) 3721-4063
Rua Pedro Chagas, s/n, Caixa Postal 100, Por do Sol,
Colatina (ES)
CEP: 29700-971
E-mail: watu@ig.com.br
Site: www.watu.com.br
Associao de Certifcao de Produtos Orgnicos
- Cho Vivo
Fone: (27) 3263-1495
Av. Frederico Grulke, 612, Sta. Maria de Jetib (ES)
CEP: 29645-000
E-mail: chaovivo@chaovivo.com.br
Associao de Produtores e Moradores da rea de
Infuncia da Reserva Biolgica Augusto Ruschi
(Apromai)
Fone: (27) 3259-2184
Fax: (27) 3259-2184
Ladeira Virglio Lambert, 144, Centro, Santa Tereza (ES)
Ongs na rede(1).indd 292 2/23/06 11:29:38 PM
293
O
N
G
s
n
a
R
e
d
e
CEP: 29650-000
E-mail: gilmar@tracomal.com.br
Associao de Programas em Tecnologia Alterna-
tiva (APTA)
Fone: (27) 3222-3527/3223-7232
Fax: (27) 3223-4990
Rua 7 de Setembro, 289, Centro, Vitria (ES)
CEP: 29015-000
E-mail: apta@veloxmail.com.br
Associao dos Amigos da Bacia do Rio Itapemirim
(AABRI)
Fone: (28) 3522- 2165
Fax: (28) 3517-3176
Cx. Postal 277, Cachoeira do Itapemirim (ES)
CEP: 29300-970
E-mail: aabri@dci.org.br
Associao dos Amigos do Parque da Fonte Grande
(AAPFG)
Fone: (27) 3315-4398
Rua Moacyr vidos, 109, apto. 1.102, ed. Mirante da Praia,
Praia do Canto, Vitria (ES)
CEP: 20057-230
E-mail: edsonvalpassos@yahoo.com.br
Associao Ecolgica Fora Verde de Guarapari
Fone: (27) 3262-1857
Fax: (27) 3262-1857
Rodovia do Sol, Km 39,5, Trevo de Setiba, Guarapari
(ES)
CEP: 29222-360
E-mail: f.verde@uol.com.br
Site: www.setiba.com.br
Associao Garra Ambiental de Serra (Agas)
Fone: (27) 3251-7728
Rua Rmulo Castelo, 22, Serra (ES)
CEP: 29173-230
E-mail: agashelton@hotmail.com
Associao Pr-Melhoramento Ambiental Amigos
do Mochuara
Fone: (27) 3386-4650
Fax: (27) 3336-7044
Rua Bolvar de Abreu, 6, Campo Grande, Cariacica (ES)
CEP: 29146-330
E-mail: amigosdomochuara@hotmail.com
Associao Vila-velhense de Proteo Ambiental
(Avidepa)
Fone: (27) 3229-5522/9981-3609
Fax: (27) 3329-1476
Rua Carolina Leal, 553, Centro, Vila Velha (ES)
CEP: 29123-220
E-mail: avidepa@avidepa.org.br
Site: www.avidepa.org.br
Ave da Mata Atlntica Reabilitada (Amar)
Rua Honrio Pinheiro da Silva, s/n, Vila de Iatanas, Con-
ceio da Barra (ES)
CEP: 29960-000
Famlia de Assistncia e Socorro ao Meio Ambiente
(Fasma)
Fone: (27) 3337-1214
Rua Lizandro Nicoletti, 293, Jucutuquara, Vitria (ES)
CEP: 29042-500
E-mail: fasma@forundasongs.org.br
Grupo Ambientalista Natureza e Companhia
(Ganc)
Fone: (27) 3373-3301/9929-7100
Fax: (27) 3264-1082
Rua Nicola Biancarde, 490, Bairro Shell, Linhares (ES)
E-mail: biapassos@excelsa.com.br
Grupo de Apoio ao Meio Ambiente (Gama)
Fone: (28) 3536-1012
Fax: (28) 3536-1492
Rua Padre Joo Arriague, 23, Anchieta (ES)
CEP: 29230-000
E-mail: gama@forumdasongs.org.br
Instituto da Biodiversidade (Ibio)
Fone: (27) 3229-4590
Fax: (27) 3223-1090
Av. Luciano das Neves, 929, Vila Velha (ES)
CEP: 29100-201
E-mail: ibio-es@forumdasongs.org.br
Instituto de Pesquisas da Mata Atlntica (Ipema)
Fone: (27) 3345-3847
Fax: (27) 3314-2537
Av. Hugo Viola, 1.001, bloco A, sala 218, Jardim da Penha,
Vitria (ES)
CEP: 29060-420
E-mail: ipema@ebrnet.com.br
Movimento Vida Nova de Vila Velha (Movive)
Fone: (27) 3229-8822
Fax: (27) 3229-8822
Rua Piau, 19, Praia do Costa, Vila Velha (ES)
CEP: 29101-320
E-mail: movivie@movive.org.br
Site: www.movive.org.br
Minas Gerais
Associao de Defesa da Ibituruna e do Meio Am-
biente (Adima)
Fone: (33) 3225-6239
Rua 22, 124, Bairro Ilha dos Arajos, Governador Valadares
(MG)
CEP: 35030-000
E-mail: joaoalvesof@aol.com
Ongs na rede(1).indd 293 2/23/06 11:29:39 PM
294
O
N
G
s
n
a
R
e
d
e
Associao de Defesa Ecolgica do Resplendor
(Adere)
Fone: (33) 3263-1959/326-3171
Rua Salustiano de Paula, 140, N. S. de Ftima, Resplendor
(MG)
CEP: 35230-000
E-mail: adereresplendor@bol.com.br
Associao de Reservas Privadas de MG (ARPE-
MG)
Fone: (35) 9962-3400/3291-6920
Fazenda Lagoa, Caixa Postal 72, Monte Belo (MG)
CEP: 37127-000
E-mail: joaoemarilda@hotmail.com
Associao dos Amigos do Meio Ambiente
(AMA)
Fone: (33) 3331-1905
Fax: (33) 3331-4327
Av. Melo Viana, 390, Caixa Postal 93, Manhuau (MG)
CEP: 36900-000
E-mail: bazened@bol.com.br
Associao Mineira de Defesa do Ambiente
(AMDA)
Fone: (31) 3291-0661/0360
Av. lvares Cabral, 1600, 11 andar, Santo Agostinho, Belo
Horizonte (MG)
CEP: 30170-001
E-mail: amda@amda.org.br
Site: www.amda.org.br
Associao pelo Meio Ambiente de Juiz de Fora
(AMAJF)
Fone: (32) 3236-4487
BR 040, Km 790, Caixa Postal 763, Juiz de Fora (MG)
CEP: 36001-970
E-mail: amajf@terra.com.br
Site: www.proecologia.com.br
Centro Agroecolgico Tamandu (CAT)
Fone: (33) 3225-4818
Rua Marechal Deodoro, 836, Centro, Governador Valadares
(MG)
CEP: 36001-970
E-mail: catgv@uai.com.br
Centro de Defesa dos Direitos da Natureza
Fone: (31) 3829-8125
Caixa Postal 704, Ipatinga (MG)
CEP: 35101-970
E-mail: agnaldobicalho@bol.com.br
Centro de Educao Ambiental de Barbacena
(RPPN)
Fone: (32) 3372-3198
Fax: (32) 3372-3198
Parque Estrada Central do Brasil, Caixa Postal 112, Bar-
bacena (MG)
CEP: 35010-280
E-mail: maria@mgconecta.com.br
Centro de Tecnologias Alternativas - Zona da Mata
(CTA-ZM)
Fone: (31) 3892-2000
Caixa Postal 128, Stio Alfa, Violeira, Zona Rural, Viosa
(MG)
CEP: 36570-970
E-mail: cta@ctazm.org.br
Site: www.ctazm.org.br
Fundao Biodiversitas
Fone: (31) 3292-8235
Rua Ludgero Dolabela, 1021, 7 andar, Caixa Postal 1462,
Gutierrez, Belo Horizonte (MG)
CEP: 30430-130
E-mail: biodiversitas@biodiversitas.org.br
Site: www.biodiversitas.org
Fundao Matutu
Fone: (35) 3344-1761
Reserva Natural Matutu, Caixa Postal 11, Aiuruoca (MG)
CEP: 37450-000
E-mail: atendimento@matutu.org
Site: www.matutu.org
Fundao Pr-Defesa Ambiental
Fone: (35) 3822-3346
Fax: (35) 3822-1121
Rua Dr. Baker, 57, Caixa Postal 322, Lavras (MG)
CEP: 37200-000
E-mail: fpda@ufanet.com.br
Site: www.defesambiental.org.br
Instituto Conservation International do Brasil
Fone: (31) 3261-3889
Avenida Getlio Vargas, 1.300, 7. andar, Savassi, Belo
Horizonte (MG)
CEP: 30112-021
E-mail: info@conservation.org.br
Site: www.conservation.org.b
Instituto Sul Mineiro de Estudos e Conservao
da Natureza
Fone: (35) 3561-2002
Fazenda Lagoa - Zona Rural, Caixa Postal 72, Monte Belo
(MG)
CEP: 37127-000
E-mail: institutosulmineiro@yahoo.com.br
Site: www.ismecn.org.br
Movimento Pr-Rio Doce
Fone: (33) 3278-0034
Rua Orbis Clube, 20, 5 andar, Ed. Banco do Brasil, Centro,
Governador Valadares (MG)
Ongs na rede(1).indd 294 2/23/06 11:29:40 PM
295
O
N
G
s
n
a
R
e
d
e
CEP: 35010-390
E-mail: movriodoce@uol.com.br
Rede de Intercmbio de Tecnologia Alternativa
Fone: (31) 3481-9080
Rua Planura, 33, Bairro Santa Ins, Belo Horizonte (MG)
CEP: 31080-100
E-mail: rede-mg@rede-mg.org.br
Stio da Tia Marianinha
Fone: (35) 3556-2319
Rua Jos Bonifcio, 241, Centro, Arceburgo (MG)
CEP: 37820-000
E-mail: ongsitio@arceburgo.com.br
Sociedade Amigos de Iracambi
Fone: (32) 3721-1436
Fax: (32) 3722-4909
Fazenda Iracambi, Rosrio de Limeira (MG)
CEP: 36878-000
E-mail: iracambi@iracambi.com
Site: www.iracambi.com
Mato Grosso do Sul
Associao de Guias de Turismo de Bonito
Fone: (67) 3255-1837
Fax: (67) 3255-2281
Rua Felinto Mller, 626, Centro, Campo Grande (MS)
CEP: 79290-000
E-mail: agtb@pop.com.br
Ecologia e Ao (Ecoa)
Fone: (67) 3324-3230
Fax: (67) 3324-9109
Rua 14 de Julho, 3.169, Campo Grande (MS)
CEP: 73002-333
E-mail: ecoa@riosvivos.org.br
Site: www.riosvivos.org.br
Fundao para Conservao da Natureza de Mato
Grosso do Sul (FUCONAMS)
Fone: (67) 3383-2332
Fax: (67) 3383-2834
Av. Tamandar, 1808, Campo Grande (MS)
CEP: 79009-790
E-mail: fuconams@terra.com.br
Instituto das guas da Serra da Bodoquena
Fone: (67) 3255-1920
Fax: (67) 3255-2245
Rua Pilada Rebu, 1.186, Centro, Bonito (MS)
CEP: 79290-000
E-mail: secretaria@iasb.org.br
Site: www.iasb.org.br
Vida Pantaneira
Fone: (67) 3287-1993
Rua Antnio Maria Coelho, 286, Porto Murtinho (MS)
CEP: 79280-000
E-mail: vidapantaneira@portonetms.com.br
Paraba
Associao de Apoio ao Trabalho Cultural Hist-
rico e Ambiental de Lucena (Apoitch)
Fone: (83) 9332-2909/293-1649
Lagoa dos Homens, s/n, Lucena (PB)
CEP: 05831-500
E-mail: carrer@usp.br
Associao Guajiru - Cincia, Educao e Meio
Ambiente (Guajiru)
Fone: (83) 248-3454/9978-0381
Av. Litornea, s/n, Bar do Surfsta, Intermares, Cabedelo
(PB)
CEP: 58310-000
E-mail: guajiru@ig.com.br,
quelonia@ig.com.br
Site: www.guajiru.org
Associao Paraibana dos Amigos da Natureza
(APAN)
Fone: (83) 221-5055/235-3128
Fax: (83) 214 4513
Rua Duque de Caxias, 68, Centro Joo Pessoa (PB)
CEP: 58052-200
E-mail: duar@terra.com.br
Pernambuco
Associao Indgena Comunitria Fowa Pypny-
S
Fone: (81) 775-1022
Fax: (81) 775-1091
Aldeamento Indgena Fulni-, guas Belas (PE)
CEP: 55340-000
Centro de Desenvolvimento Agroecolgico Sabi
Fone: (81) 3223-7026
Fax: (81) 3231-0492
Rua do Sossego, 355, Santo Amaro, Recife (PE)
CEP: 50050-080
E-mail: centrosabia@terra.com.br
Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste (Ce-
pan)
Fone: (81) 3271-8944
Rua Almirante Batista Leo, 314, Boa Viagem, Recife
(PE)
CEP: 51130-070
E-mail: cepan.org@bol.com.br
Ongs na rede(1).indd 295 2/23/06 11:29:40 PM
296
O
N
G
s
n
a
R
e
d
e
Grupo de Estudos de Sirnios, Cetceos e Quelnios
(GESCQ)
Fone: (81) 2126-8859/2126-8353
Rua Amaro Soares de Andrade, 1143/302, Piedade, Jaboato
dos Guararapes (PE)
CEP: 54410-070
E-mail: gescqrma@uol.com.br
Servio de Tecnologia Alternativa (Serta)
Fone: (81) 3658-1226
Fax: (81) 3658-1226
Rua Itapemirin, 22, Apto. 2, Bongi, Recife (PE)
CEP: 50751-080
E-mail: serta@serta.org.br,
moura@serta.org.br
Site: www.serta.org.br
Sociedade Nordestina de Ecologia (SNE)
Fone: (81) 3231-5242
Fax: (81) 548-1105
Rua Visconde de Suassuna, 923, sala 204, Boa Vista, Re-
cife (PE)
CEP: 50050-540
E-mail: sne@sne.org.br
Site: www.sne.org.br
Sociedade para Desenvolvimento Tecno-ecolgico
(Ecotec)
Fone: (81) 3466 2320/326-9272
Fax: (81)3466-1320
Av. Conselheiro Aguiar, 3.426, apto. 6, Boa Viagem, Recife
(PE)
CEP: 51020-021
E-mail: ecotecMatla@hotmail.com
Piau
Fundao de Defesa Ecolgica do Cerrado (Fun-
cerrado)
Fone: (86) 232.5661/215.5830
Fax: (86) 562-1176
Rua So Miguel, 765, Bom Jesus (PI)
CEP: 64900-000
E-mail: aslopes@ufpi.br
Fundao Rio Parnaba (Furpa)
Fone: (86) 213-1870/221-7870
Fax: (86) 213-1622
Rua Maranho, 1954, Piraj, Teresina (PI)
CEP: 64003-170
E-mail: furpa@ig.com.br
Movimento SOS Natureza de Luiz Correia
Fone: (86) 367-1496
Fax: (86) 367-1496
Rua Jonas Correia, 240, Centro, Luiz Correia (PI)CEP:
64220-000
Paran
Arco ris - Associao para Defesa da Natureza
Fone: (41) 3282-3116
Travessa Ema Moro, 137, So Jos dos Pinhais (PR)
CEP: 83020-120
E-mail: araujo@clac.coop.br
Associao de Defesa do Meio Ambiente de Arau-
cria (Amar)
Fone: (41) 642-4797
Rua Professor Alfredo Parodi, 455, Centro, Araucria
(PR)
CEP: 83702-070
E-mail: amarnatureza@brturbo.com.br
Associao de Proteo ao Meio Ambiente de Cia-
norte (Apromac)
Fone: (44) 629-6766
Rua Afonso Pena, s/n, fundos da UEM, Cianorte (PR)
CEP: 87200-000
E-mail: apromac@apromac.org.br
Site: http://www.apromac.org.br
Associao Paranaense de Proprietrios de
RPPN
Fone: (44) 3435-1123
Fax: (44) 3435-1123
Avenida Paran, 263, sala 3, Planaltina do Paran (PR)
CEP: 87860-000
E-mail: sabrina@rppnparana.org.br
Site: www.rppnparana.org.br
Centro de Estudos, Defesa e Educao Ambiental
(Cedea)
Fone: (41) 3333-3864
Fax: (41) 3333-3864
Rua Rockefeller, 706, apto. 302- B, Curitiba (PR)
CEP: 50230-130
E-mail: laurajmc@neptar.com.br
Site: www.cedea.org.br
Fora, Ao e Defesa Ambiental (Fada)
Fone: (41) 657-7577/9112-3464
Fax: (41) 657-8821
Rua Alfredo Valente, 55, Almirante Tamandar (PR)
CEP: 83504-610
Fundao ngelo Creta de Educao Ambiental
(Fundao Creta)
Fone: (41) 393-3357
Fax: (41) 292-4458
Rua Vereador Arlindo Chemin, 50, salas 111/113, Campo
Ongs na rede(1).indd 296 2/23/06 11:29:41 PM
297
O
N
G
s
n
a
R
e
d
e
Largo (PR)
E-mail: fundacaocreta@brturbo.com
Fundao O Boticrio de Proteo Natureza
Fone: (41) 340-2643
Fax: (41) 340-2635
Rua Gonalves Dias, 225, Batel, Curitiba (PR)
CEP: 80240-340
E-mail: fundacao@fbpn.org.br
Site: www.fundacoboticario.org.br
Fundao Osis Cidade Aberta (Foca)
Fone: (41) 3362-1616
Fax: (41) 3027-2828
Rua Fagundes Varela, 441, Jardim Social, Curitiba (PR)
CEP: 82520-040
E-mail: info@foca.org.br
Site: www.foca.org.br
Grupo de Estudos Espeleolgicos do Paran (GEEP
Aungui)
Fone: (41) 225-5009
Fax: (41) 225-5009
Rua Desembargador Westphalen, 15, sala 1606, Centro,
Curitiba (PR)
CEP: 80010-110
E-mail: acungui@brturbo.com
Instituto Agroforestal Bernardo Hakvoort (IAF)
Fone: (42) 642-1318
Fax: (42) 642-1553
Rua Elias Rickli, s/n, Caixa Postal 28, Turvo (PR)
CEP: 85150-000
E-mail: iafturvo10@bol.com.br
Instituto de Pesquisas de Guaraqueaba (IPG)
Fone: (41) 322-5272
Fax: (41) 322-5272
Rua Alferes Poli, 459, Centro, Curitiba (PR)
CEP: 80230-090
E-mail: ipg@onda.com.br
Instituto Guaraqueaba - Defensores da Natureza
(DNA)
Fone: (41) 3323-1616
Rua Mariano Torres, 916, apto. 105, Centro, Curitiba
(PR)
CEP: 80060-120
E-mail: dna_guaraquecaba@hotmail.com
Instituto Indigenista e de Estudos Socioambientais
- Terra Mater
Fone: 41 356 3517
Rua Bernardo Rossenmann, 95, Tingui, Curitiba (PR)
CEP: 82600-130
E-mail: luli_m@terra.com.br
Instituto Os Guardies da Natureza (ING)
Fone: (42) 446-2171
Rua Capito Francisco Duski Silva, 1520, Prudentpolis
(PR)
CEP: 84400-000
E-mail: vaniam@visaonet.com.br
Site: www.ing.org.br
Liga Ambiental
Fone: (41) 3336-5524
Rua Jos Domakoski, 161, fundos, Bigorrilho, Curitiba
(PR)
CEP: 80730-140
E-mail: ligaambiental@ligaambiental.org.br
Site: www.ligaambiental.org.br
Mater Natura - Instituto de Estudos Ambientais
Fone: (41) 323-1268
Fax: (41) 323-1268
Rua Desembargador Westphalen, 15, 16 andar, Curitiba
(PR)
CEP: 80010-110
E-mail: info@maternatura.org.br
Site: http://www.maternatura.org.br
Movimento Ecolgico Incentivo Limpeza e Hi-
giene Ambiental (Ilha)
Fone: (41) 3283-1408
Travessa Paulo Paqualin, 113, So Jos dos Pinhais (PR)
CEP: 83005-970
Organizao No-Governamental Preservao
Fone: (44) 3435-1123
Fax: (44) 3435-1123
Av. Paran, 263, sala 3, Planaltina do Paran (PR)
CEP: 87860-000
E-mail: info@preservacaonline.org.br
Site: www.preservacaonline.org.br
Rede Brasileira para Conservao dos Recursos
Hdricos e Naturais (Redada)
Fone: (41) 3264-6023
Fax: (41) 3264-6023
Rua Justiniano Melo Silva, 378, Curitiba (PR)
CEP: 82530-150
E-mail: pax.mundi@pop.com.br
Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Edu-
cao Ambiental (SPVS)
Fone: (41) 242-0280
Fax: (41) 242-0280
Rua Guttemberg, 296, Curitiba (PR)
CEP: 80420-030
E-mail: info@spvs.org.br clovis@spvs.org.br
Site: www.spvs.org.br
Ongs na rede(1).indd 297 2/23/06 11:29:41 PM
298
O
N
G
s
n
a
R
e
d
e
Sociedade de Preservao Ambiental Movimento
Ecolgico Amigos do Cambu (Meacam)
Fone: (41) 393-3357
Fax: (41) 292-4458
Rua Vereador Arlindo Chemin, 50, salas 111/113, Campo
Largo (PR)
CEP: 83601-070
E-mail: meacam@bol.com.br
The Nature Conservancy (TNC do Brasil)
Fone: (41) 336-8777 ramal 208
Fax: (41) 336-8777 ramal 224
Alameda Julia da Costa, 1240, Bigorilho, Curitiba (PR)
CEP: 80730-070
E-mail: mcalmon@tnc.org.br
Rio de Janeiro
Assessoria e Servios a Projetos de Agricultura
Alternativa (ASPTA)
Fone: (21) 2253-8317
Fax: (21) 2233-8363
Rua da Candelria, 9, 6 andar, Centro, Rio de Janeiro
(RJ)
CEP: 20091-020
E-mail: aspta@aspta.org.br
Site: www.aspta.org.br
Associao Brasil de Ecologia (ABE)
Fone: (21) 2508-9503/2509-6460
Fax: (21) 2508-9503
Rua Sete de Setembro, 55, 13 andar, Centro, Rio de Ja-
neiro (RJ)
CEP: 20050-004
E-mail: abe-ecologia@ig.com.br
Site: www.abebr.com.br
Associao de Defesa do Meio Ambiente de Jaca-
repi (Adeja)
Fone: (24) 2665-3471
Fax: (24) 2665-1081/9975-1592
Caixa Postal 110801, Saquarema (RJ)
CEP: 28993-000
E-mail: adeja@adeja.org.br
Associao de Moradores e Amigos de Mamangu
(Amam)
Fone: (24) 3371-1951
Fax: (24) 3371-1951
Praia do Cruzeiro, s/n, Saco do Mamangu, Caixa Postal
74898, Paraty (RJ)
CEP: 23970-000
E-mail: nogara@paratyweb.com.br
Associao de Proteo a Ecossistemas Costeiros
(APREC)
Fone: (21) 2609-8573/9822-9151
Fax: (21) 2609-8573
Rua Dr. Macrio Picano, 825 (antiga rua 54), Maravista,
Itaipu, Niteri (RJ)
CEP: 24342-330
E-mail: aprec@aprec.org.br
Site: http://www.aprec.org.br
Associao em Defesa da Qualidade de Vida, do
Meio Ambiente e do Patrimnio Histrico, Cultura
de Artstico - Bicuda Ecolgica
Fone: (21) 3371-9062 / (21) 3137-7903
Fax: (21) 3351-9510
Rua Ferreira Chaves, 71, Vila da Penha, Rio de Janeiro
(RJ)
CEP: 21221-090
E-mail: bicuda@bicuda.org.br
Site: http://www.bicuda.org.br
Associao Mico-Leo-Dourado (AMLD)
Fone: (22) 2778-2025
Fax: (22) 2778-2025
Caixa Postal 109.968, Casimiro de Abreu (RJ)
CEP: 28860-970
E-mail: rambaldi@micoleao.org.br
Site: http://www.micoleao.org.br
Associao Projeto Lagoa de Marapendi (Ecoma-
rapendi)
Fone: (21) 2552-6393/2551-6215
Fax: (21) 2552-6393
Rua Paissandu, 362, Laranjeiras, Rio de Janeiro (RJ)
CEP: 22210-080
E-mail: eco@ecomarapendi.org.br
Site: www.ecomarapendi.org.br
Associao Projeto Roda Viva
Fone: (21) 2224-8794/ 2224-8712
Fax: (21) 2224-7456
Rua Slvio Romero, 57, Lapa, Rio de Janeiro (RJ)
CEP: 20230-100
E-mail: meioambiente@rodaviva.org.br
Site: http://members.tripod.com/~rodaviva/
Centro de Estudos e Conservao da Natureza
(Cecna)
Fone: (24) 2522-1862 / (21) 2522-0710
Fax: (24) 2522-0224
Caixa Postal 97.411, Nova Friburgo (RJ)
CEP: 28601-970
E-mail: fatiha@netfash.com.br
Comit Brasileiro do Programa das Naes Unidas
para o Meio Ambiente (Pnuma)
Fone: (21) 3084-1020
Ongs na rede(1).indd 298 2/23/06 11:29:42 PM
299
O
N
G
s
n
a
R
e
d
e
Fax: (21) 3084-4233
Av. Nilo Peanha, 50, Sala 1708, Centro, Rio de Janeiro
(RJ)
CEP: 20044-900
E-mail: brasilpnuma@domain.com.br
Site: http://www.brasilpnuma.org.br/
Crescente Frtil - Projetos Ambientais, Culturais
e de Comunicao
Fone: (24) 3381-7110
Fax: (24) 3381-7110
Estada JC Silveira 2629, Caixa Postal 56, Serrinha, Re-
sende (RJ)
CEP: 27530-990
E-mail: crescente.fertil@crescentefertil.org.br
Site: www.crescentefertil.org.br
Defensores da Terra
Fone: (21) 2524-7931
Fax: (21) 2524-5809
Rua Senador Dantas, 84, sala 1211, Rio de Janeiro (RJ)
CEP: 20031-201
E-mail: defterra@uol.com.br
Entidade Ambientalista Onda Verde (Onda Ver-
de)
Fone: (21) 2779.4563
Fax: (21) 2533-8425
Rua N. Senhora da Conceio, 6, Tingu, Nova Iguau
(RJ)
CEP: 26063-420
E-mail: gita@iveloz.com.br
Federao de rgos para Assistncia Social e
Educacional (Fase)
Fone: (21) 2286-1441
Fax: (21) 2286-1209
Rua das Palmeiras, 90, Botafogo, Rio de Janeiro (RJ)
CEP: 22270-170
E-mail: fase@fase.org.br
Site: www.fase.org.br
Fundao Brasileira para a Conservao da Na-
tureza (FBCN)
Fone: (21) 2537-7565
Fax: (21) 2537-1343
Rua Miranda Valverde, 103, Botafogo, Rio de Janeiro (RJ)
CEP: 22281-000
E-mail: fbcnbr@veloxmail.com.br
Site: www.fbcn.org.br
Fundao de Estudos do Mar (Femar)
Fone: (21) 2553-1347
Fax: (21) 2552-9894
Rua Marques de Olinda, 18, Botafogo, Rio de Janeiro (RJ)
CEP: 22251-040
E-mail: cursos@femar.com.br
Grupo Ao Ecolgica (GAE)
Fone: (21) 2257-2494/9972-8216
Av. Rui Barbosa, 10, Apto. 1501, Flamengo (RJ)
CEP: 22250-020
E-mail: teresalindoso@uol.com.br
Grupo de Defesa Ecolgica (Grude)
Fone: (21) 2447-3693
Fax: (21) 2436-1786
Estrada de Jacarepagu, 7818, sala 201, Jacarepagu, Rio
de Janeiro (RJ)
CEP: 22753-045
E-mail: grude@grude.org.br
Site: www.grude.org.br
Grupo de Defesa Ecolgica Pequena Semente
(GDEPS)
Fone: (22) 2793-2532
Fax: (21) 2242-2595
Rua Jos de Jesus Junior, 42, Maca (RJ)
CEP: 27900-000
E-mail: felipecozzolino@bol.com.br
Grupo de Proteo Ambiental da Serra da Con-
crdia Salve a Serra
Fone: (21) 2522-2860/(24) 2452-4864
Rua Gomes Carneiro, 161/201, Ipanema, Rio de Janeiro (RJ)
CEP:22071-110
E-mail: roberto.lamego@uol.com.br
Grupo Ecolgico Aracary de Paraty
Fone: (24) 3371-2008/9696-5271
Fax: (24) 3371-2008
Rua das Sairas, s/n, Combar, Paraty (RJ)
CEP: 23970-000
E-mail: grazacaro@ig.com.br
Instituto Baa de Guanabara (IBG)
Fone:(21) 2625-4311/2625-0226
Alameda So Boaventura, 770, Fonseca Niteri (RJ)
CEP: 24120-192
E-mail: ibg@baiadeguanabara.org.br
Site: www.baiadeguanabara.org.br
Instituto BioAtlntica (IBIO)
Fone: (21) 2535-3940/8151-0770
Fax: (21) 2535-3940
Rua Goethe, 54, Botafogo, Rio de Janeiro (RJ)
CEP: 22281-020
E-mail: bioatlantica@bioatlantica.org.br
Site: www.bioatlantica.org.br
Instituto de Desenvolvimento e Ao Comunitria
(Idaco)
Fone: (21) 2233-7727/2233-4535
Fax: (21) 2233-4535
Rua Visconde de Inhama, 134, sala 529, Centro, Rio de
Ongs na rede(1).indd 299 2/23/06 11:29:42 PM
300
O
N
G
s
n
a
R
e
d
e
Janeiro (RJ)
CEP: 20091-000
E-mail: idaco@idaco.org.br
Site: www.idaco.org.br
Instituto de Estudos da Religio (Iser)
Fone: (21) 2556-5004
Fax: (21) 2558-3764
Ladeira da Glria, 98, Glria, Rio de Janeiro (RJ)
CEP: 22211-120-
E-mail: iser@iser.org.br
Instituto de Pesquisas Avanadas em Economia e
Meio Ambiente (Instituto Ipanema)
Fone: (21) 2527-8747
Fax: (21) 2286-6475
Rua Serafm Valandro, 6/304, Rio de Janeiro (RJ)
CEP: 22260-110
E-mail: ipanema@alternex.com.br
Site: www.institutoipanema.com.br
Instituto Ecotema
Fone: (24) 2222-1651
Fax: (24) 2222-1651
Caixa Postal 90.962, Petrpolis (RJ)
CEP: 25621-970
E-mail: ecotema@e-tribuna.com.br
Instituto Rede Brasileira Agroforestal (Rebraf)
Fone: (21) 2521-7896
Fax: (21) 2521-1593
Rua Visconde de Piraj, 111/713, Ipanema, Rio de Janeiro (RJ)
CEP: 22410-001
E-mail: rebrafrj@alternex.com.br
Site: www.rebraf.org.br
Instituto Terra de Preservao Ambiental (Instituto
Terra)
Fone: (24) 2484-0505
Estrada do Chaumiere, 1405, Baro de Javary, Miguel
Pereira (RJ)
CEP: 26.900-000
E-mail: calico@institutoterra.org.br
Site: www.institutoterra.org.br
Instituto Terra Nova (Iten)
Fone: (21) 2213-0107
Fax: (21) 2213-0174
Avenida Marechal Floriano, 38/902, Rio de Janeiro (RJ)
CEP: 20080-007
E-mail: terranova@terranova.org.br
Site:v http://www.terranova.org.br
Movimento Verde de Estudantes (Move)
Fone: (24) 2222-4308 / (24) 2249-0627
Fax: (24) 2222-1682
Travessa Jos Machado da Costa, 42, Itaipava, Petrpolis (RJ)
CEP: 25730-730
E-mail: move_itaipava@terra.com.br
Os Verdes - Movimento de Ecologia Social
Fone: (21) 2224-6713
Rua Santo Amaro, 129, Glria, Rio de Janeiro (RJ)
CEP: 22211-130
E-mail: osverdes@osverdes.org.br
Site: www.osverdes.org.br
Programa Rural de Educao Ambiental (Pre)
Fone: (22) 2522-3444/9812-8761
Rua Joo Heringer, 575, sala 101, Braunes, Nova Friburgo (RJ)
CEP: 28611-350
E-mail: helovert@brasilvision.com.br
Protetores da Floresta - Ncleo de Estudos Am-
bientais
Fone: (21) 2608-0621/3602-8944
Estrada do Engenho do Mato, 211, trreo, Engenho do
Mato, Niteri (RJ)
CEP: 24346-040
E-mail: advocacia@ambiental.adv.br
Reserva Ecolgica Guapiau
Fone: (21) 9811-6745
Caixa Postal 98112, Cachoeira de Macacu (RJ)
CEP: 28680-000
E-mail: aregua@terra.com.br
Site: www. regua.org.br
Sociedade Angrense de Proteo Ecolgica (Sap)
Fone: 24 3367-0862
Rua Professor Lima, 154, Centro, Angra dos Reis (RJ)
CEP: 23.900-000
E-mail: sape.angra@terra.com.br
Sociedade Ecolgica para a Recuperao da Na-
tureza (Serena)
Fone: (24) 2285-2836
Rua Correia Dutra, 119, Caixa Postal 90823, Petrpolis (RJ)
CEP: 25621-970
E-mail: serena@compuland.com.br
Verde Cidadania
Fone: (21) 2710-3940/9946-1001
Fax : (21) 2710-3940
Rua Dr. Sardinha, 124/301, Santa Rosa, Niteri (RJ)
CEP: 24240-660
E-mail: faleconosco@verdecidadania.org.br
Site: www.verdecidadania.org.br
Rio Grande do Norte
Associao Guamareense de Proteo e Educao
Ambiental (Aspam)
Fone: (84) 525-2327
Rua Capito Vicente de Brito, 12636, Centro, Guamar (RN)
CEP: 59598-000
E-mail: iruvane@bol.com.br
Ongs na rede(1).indd 300 2/23/06 11:29:43 PM
301
O
N
G
s
n
a
R
e
d
e
Associao Potiguar Amigos da Natureza (Aspoan)
Fone: (84)211-1009/219-4000
Caixa Postal 1300, Natal (RN)
CEP: 59.075-970
E-mail: xisblu@yahoo.com.br
Ncleo Ecolgico da Pipa
Fone: (84) 246-2063
Fax: (84) 246- 2226
Av. Baa dos Golfnhos, s/n, Praia da Pipa, Tibau do Sul (RN)
CEP: 59178-000
E-mail: cecipugli@hotmail.com
Sociedade Terra Viva (STV)
Fone: 84 211-9704
Fax: (84) 215-3290
UFRN/DAS, BR 101, 3000, Lagoa Nova, Natal (RN)
CEP: 59162-000
E-mail: stvbrasil@hotmail.com
Site: www.stvbrasil.oi.com.br
Rio Grande do Sul
Associao Ao Nascente Maquin (Anama)
Fone: (51) 3338-7418
Rua Almiro Coimbra, Sobrado 106, Jardim YPU (RS)
CEP: 91450-010
E-mail: onganama@yahoo.com.br
Associao Ambientalista da Costa Doce
Fone: (51) 671-4077/5068
Fax: (51) 671-4449
Rua General Zeca Neto, 278, Camaqu (RS)
CEP: 96180-000
E-mail: costa_doce@hotmail.com
Associao Canoense de Proteo ao Meio Ambien-
te Natural (Ascapan)
Fone: (51) 472-8317
Rua Domingos Martins, 1058, Canoas (RS)
CEP: 92310-190
E-mail: ascapan@terra.com.br
Associao Ecolgica Canela - Planalto das Arau-
crias (Assecan)
Fone: (54) 282-1292/282-2597
Fax: (51) 332-3981/9912-5650
Caixa Postal 29, RPPN Bosque de Canela, Canela (RS)
CEP: 95680-000
E-mail: assecan@via-rs.net
Associao Gacha de Proteo ao Ambiente Na-
tural (Agapan)
Fone: (51) 3333-3501
Caixa Postal 1996, Porto Alegre (RS)
CEP: 90001-970
E-mail: agapan@alternet.com.br
Associao Trescoroense de Proteo ao Ambiente
Natural (Astepan)
Fone: (51) 546-1863
Fax: (51) 546-1100
Rua Arthur Haack, 152, Caixa Postal 13, Trs Coroas (RS)
CEP: 95660-000
E-mail: astepan@faccat.br
Centro de Estudos Ambientais (CEA)
Fone: (53) 225-4954/9122-9307
Fax: (53) 225-4954
Rua General Neto, 1051, sala 301, Pelotas (RS)
CEP: 96015-280
E-mail: cea@ceaong.com.br
Site: www.ceaong.org.br
Cooperativa dos Citricultores Ecolgicos do Vale
do Cai (Ecoctrus)
Fone: (51) 632-4821
Rua Joo Pessoa, 457, Centro, Montenegro (RS)
CEP: 95780-000
E-mail: ecocitrus@terra.com.br
Curicaca
Fone: (51) 3332-0489/99854424
Fax: 51 33320489
Av. Polnia, 1093, Porto Alegre (RS)
CEP: 90230-110
E-mail: curicaca@portoweb.com.br
IGRE - Associao Socioambientalista
Fone: (51) 3328-4698/3316-7697
Rua Anita Garibaldi, 1924/1202, Caixa Postal 18550, Porto
Alegre (RS)
CEP: 90480-200
E-mail: igre_amigosdaagua@yahoo.com.br
Site: www.igre.org.br
Movimento Ambientalista da Regio das Horten-
sias (MARH)
Fone: s/ fone
Rua Nereu Ramos, 345, Gramado (RS)
CEP: 95670-000
Site: www.marh.org.br
Movimento Roessler para Defesa Ambiental
(Mordam)
Fone: (51) 595-5148
Fax: (51) 595-5148
Rua Santos Pedroso, 470, sala 2, Novo Hamburgo (RS)
CEP: 93520-340
E-mail: roessler@sinos.net
Ncleo Amigos da Terra Brasil
Fone: (51) 3332-8884
Rua Carlos Trein Filho, 13, Auxiliadora, Porto Alegre (RS)
Ongs na rede(1).indd 301 2/23/06 11:29:44 PM
302
O
N
G
s
n
a
R
e
d
e
CEP: 90450-120
E-mail: foebr@cpovo.net
Ncleo Socioambiental Ara-Piranga (Ara-
Piranga)
Fone: (51) 559-7864/589-1493
Rua Otto Kuntz, 17, apto. 114, setor 5, Centro, Sapiranga
(RS)
CEP: 93800-000
E-mail: arabiosfera@simbr.com
Onda Verde - Preservando o Meio Ambiente
Fone: (51) 664-3644 664.1433
Rua So Domingos, 520, apto. 1, Centro, Caixa Postal 14,
Torres (RS)
CEP: 95560-000
E-mail: naborguazzelli@zaz.com.br
Projeto Mira-Serra (Mira-Serra)
Fone: (51) 3334-0967
Fax: (51) 3223-1817
Rua Ferreira Viana, 885/311, Porto Alegre (RS)
CEP: 90670-100
E-mail: ecologus@terra.com.br
Site: www.projetomiraserra.hpgvip.com.br
Unio Pela Vida (UPV)
Fone: (51) 332-7013
Fax: (51) 332-7013
Av. Maryland, 485/205, Mont Serrat, Caixa Postal 9568,
Porto Alegre (RS)
CEP: 90440-191
E-mail: nilda2@cpovo.com.br
Unio Protetora do Ambiente Natural (Upan)
Fone: (51) 592-7933/9941-0582
Fax: (51) 592-7933
Praa Tiradentes, 725, Caixa Postal 189, So Leopoldo (RS)
CEP: 93001-020
E-mail: upan@sinos.net
Santa Catarina
Anjos do Tempo - Ong Ambientalista
Fone: (48) 3355-6092
Rodovia SC-434, Km 10, Campo Duna, Garopaba (SC)
CEP: 88495-000
E-mail: neryprux@yahoo.com.br
Aprender - Entidade Ecolgica
Fone: (48) 3369-1728
Rua Servido do Jornalista, 150, Praia do Santinho, Flo-
rianpolis (SC)
CEP: 88058-724
E-mail: aprender@aprender.org.br
Site: http://www.aprenderecologia.org.br
Associao Popular Preservacionista Francis-
quense
Fone: (41) 3354 -0464/9633-3441
Rua dos Paranaenses, s/n, Miranda, So Francisco do Sul (SC)
CEP: 89240-000
E-mail: appf_sfs@yahoo.com.br
Associao Catarinense de Preservao da Natu-
reza (Acaprena)
Fone: (47) 3321-0434
Fax: (47) 3322-8818
Rua Antnio da Veiga, 140, Caixa Postal 1507, Blumenau (SC)
CEP: 89012-500
E-mail: acaprena@furb.br
Site: http://www.acaprena.org
Associao Condomnio Naturista Morro da Tar-
taruga
Fone: (47) 3433-1044
Caixa Postal 781, Joinville (SC)
CEP: 89201-972
E-mail: altamir@andrade.jor.br
Associao de Preservao do Meio Ambiente do
Vale do Itaja (Apremavi)
Fone: (47) 3521-0326
Fax: (47) 3521-0326
Rua XV de Novembro, 118, sala 27, 2 andar, Caixa Postal
218, Rio do Sul (SC)
CEP: 89160-000
E-mail: info@apremavi.org.br
Site: www.apremavi.org.br
Associao de Preservao e Equilbrio do Meio
Ambiente de Santa Catarina (Aprema)
Fone: (47) 3422-4874
Fax: (47) 3422-4874
Rua Marinho Lobo, 80, sala 605, Joinville (SC)
CEP: 89201-020
E-mail: aprema@aprema.com.br
Site: http://www.aprema.com.br
Associao Ecolgica Joinvilense Vida Verde
Fone: (47) 3422-4995
Fax: (47) 3441-3800
Rua Aub, 330, Centro, Joinville (SC)
CEP: 89200-000
E-mail: vida@vidaverde.org.br
Site: http://www.vidaverde.org.br
Associ ao Movi mento Ecol gi co Cari js
(Ameca)
Fone: (47) 3444-0429
Fax: (47) 3444-2691
Caixa Postal 218, So Francisco do Sul (SC)
CEP: 89240-000
E-mail: ameca@terra.com.br
Ongs na rede(1).indd 302 2/23/06 11:29:44 PM
303
O
N
G
s
n
a
R
e
d
e
Centro Vianei /Avicitecs
Fone: (49) 3222-4255
Fax: (49) 3222-4255
Av. Papa Joo XXIII, 1565, Ipiranga, Caixa Postal 111,
Lages (SC)
CEP: 88505-200
E-mail: vianei10@yahoo.com.br
Site: http://www2.uniplac.rct-sc.br/vianei
Fundao Praia Vermelha de Conservao da Na-
tureza (Praver Natureza)
Fone: (47) 3455-980/345-5843
Fax: (47) 3345-5980
Rua So Roque, s/n, Praia Grande, Penha (SC)
CEP: 88385-000
E-mail: fundacaopraiavermelha@yahoo.com.br
Site: www.fundacaopravernatureza.cjb.net
Fundao SOS Euterpe Edulis
Fone: (47) 3436-0647
Fax: (47) 3436-0647
Rua Diamantina, 287, Floresta, Joinville (SC)
CEP: 89211-060
E-mail: gfcher.joi@terra.com.br
Grupo Pau Campeche
Fone: (48) 3237-2562 / 233-4037
Fax: (48) 3331-9672
Caixa Postal 5007, Florianpolis (SC)
CEP: 88040-970
E-mail: paucampeche@yahoo.com.br
Site: www.paucampeche.org.br
Instituto Esquilo Verde
Fone: (47) 3334-1846
Rua Heinrich Hemmer, 1070, Blumenau (SC)
CEP: 89070-000
E-mail: botanic.bnu@terra.com.br
Instituto R-Bugio para Conservao da Biodiver-
sidade (R-Bugio)
Fone: (47) 3733-087
Estrada Rio da Prata, 523, Caixa dgua, Guaramirim (SC)
CEP: 89270-000
E-mail: germano@ra-bugio.org.br
Site: www.ra-bugio.org.br
Klimata - Centro de Estudos Ambientais
Fone: (48) 3237-5124
Estrada Roslia Paulina Ferreira, 2748, Pntano do Sul,
Florianpolis (SC)
CEP: 88066-600
E-mail: contato@klimata.org.br ou vera@klimata.org.br
Site: www.klimata.org.br
Movimento em Defesa da Ecologia e do Meio Am-
biente (Agrias)
Fone: (48) 3247-1321
Av. Ademar da Silva, 176, apto. 501, Kobrasol, So Jos (SC)
CEP: 88101-090
E-mail: telmo@fastlane.com.br
Voluntrios Verdade Ambiental
Fone: (47) 3462-852
Av. Joca Brando, 618, sala 5, Itaja (SC)
CEP: 88301-441
E-mail: cavedon@univali.br
Sergipe
Instituto Sivio Romero de Cinca e Pesquisa
Fone: (79) 3214-1804/3222-3678
Fax: (79) 3211-4163
Rua Rafael de Aguiar, 790, Pereira Lobo, Aracaju (SE)
CEP: 49050-660
E-mail: romerociencia@yahoo.com.br
Movimento Comunitrio do Estado de Sergipe
(Mocese)
Fone: (79) 3043-1222/3247-1313
Fax: (79) 3247-1313
Rua Professor Henrique de Souza, 5, Cond. Jd. Sol Nas-
cente, Jabotiana, Aracaju (SE)
CEP: 49095-350
E-mail: robinsonpt@bol.com.br
Movimento Popular Ecolgico (Mopec)
Fone: (79) 212-6610/248-6548
Fax: (79) 212-6755
Rua G4 n12 conjunto Augusto Franco - Bairro Farolandia
Aracaju (SE)
CEP: 49030-100
E-mail: mopec_se@yahoo.com.br
Organizao Cupim
Fone: (79) 8812-8200
Rua Artur Rodrigues da Silva, 77, Conjunto Orlando Dantas,
Aracaju (SE)
CEP: 49042-470
E-mail: aquatunem@yahoo.com.br
Sociedade Ecoar
Fone: (79) 3217-2210
Fax: (79) 3217-1800
Rua Joo Avila Neto, 195, Grageru, Aracaju (SE)
CEP: 49041-120
E-mail: faleecoar@sociedadeecoar.org.br
Site: www.sociedadeecoar.org.br
Ongs na rede(1).indd 303 2/23/06 11:29:45 PM
304
O
N
G
s
n
a
R
e
d
e
So Paulo
Associao Ambiental Paiquer
Fone: (19) 3561-3240/3561-1217
Rua Otto Schubart, 412, Vila Pinheiro, Pirassununga (SP)
CEP: 13630-295
E-mail: camonte27@yahoo.com.br
Associao Ambientalista Projeto Copaba
(AAPC)
Fone: (19) 3895-8382
Rodovia Capito Barduno, 788, Km 135, Abadia, Caixa
Postal 216, Socorro (SP)
CEP: 13960-000
E-mail: atendimento@projetocopaiba.org.br
Site: www.projetocopaiba.org.br
Associao Brasileira de Agricultura Biodinmi-
ca
Fone: (14) 822-5066
Fax: (14) 822-5066
Rodovia Gasto da Farra, Km 4, Caixa Postal 321, Botu-
catu (SP)
CEP: 18603-970
E-mail: ibd@ibd.com.br
Site: www.ibd.com.br
Associao Civil Greenpeace
Fone: (11)3035.1195
Fax: (11) 3817.4600
Rua Alvarenga, 2331, Butat, So Paulo (SP)
CEP: 05509-006
E-mail: greenpeace@greenpeace.org.br
Site: www.greenpeace.org.br
Associao Cultural e Ecolgica Pau-Brasil
Fone: (16) 636-9590 /636-9590
Fax: (16) 639-9590
Rua Lafaete, 629, Ribeiro Preto (SP)
CEP: 14015-080
Associao Cunhambebe dos Amigos do Parque
Estrada Ilha Anchieta
Fone: (12) 3842-0098
Fax: (12)442 0098
Rua Amoreira, 167, Caixa Postal 40, Ubatuba (SP)
CEP: 11680-970
E-mail: cunhambe@cunhabebe.org.br
Site: http://www.cunhambebe.org.br/
Associao de Agricultura Orgnica (AAO)
Fone: (11) 3875-2625
Av. Francisco Matarazzo, 455, sala 20, Caixa Interna 24,
So Paulo (SP)
CEP: 05001-970
E-mail: organicatecnico@uol.com.br
Associao de Amigos do Grande Parque Ecolgico
e Turstico de Caraguatatuba (Caraguat)
Fone: (12) 3882-1329
Av. Presciliana de Castilho, 117, Centro, Caraguatatuba (SP)
CEP: 11660-330
E-mail: presidencia@ongcaraguata.org
Site: www.ongcaraguata.org
Associao de Defesa do Meio Ambiente - Vale
Verde
Fone: (12) 3921-6199
Av. Francisco Jos Longo, 149, sala 57, Bairro Vila Adyana,
So Jos dos Campos (SP)
CEP 12245-900
E-mail: valeverde@valeverde.org.br
Site: www.veleverde.org.br
Associao de Defesa do Meio Ambiente de Avar
(Adema)
Fone: (14) 3732-2367
Fax: (14) 3732-2367
Rua Alagoas, 978, Avar (SP)
CEP: 18700-070
E-mail: sheymir@uol.com.br
Associao de Defesa do Rio Paran, Afuentes
Mata Ciliar (Apoena)
Fone: (18) 281-4080
Fax: (18) 281-4080
Rua Cuiab, 1-19, Presidente Epitcio (SP)
CEP: 19470-000
E-mail: apoena@uol.com.br
Associao de Profssionais em Cincia Ambiental
(Acima)
Fone: (11) 5506-8490
Fax: (11) 5506-6708
Rua Quintana, 467, So Paulo (SP)
CEP: 04569-010
E-mail: acima@br2001.com.br
Associao de Recuperao Florestal do Mdio
Tiet - Flora Tiet
Fone: (18) 652-2948
Fax: (18) 652-2623
Av. Presidente Getlio Vargas, 151-A, Parque Industrial,
Penpolis (SP)
CEP: 16300-000
E-mail: f.tiete@pen.zaz.com.br
Associao Eco Juria (AEJ)
Fone: (11) 3873-2453
Rua Iperoig, 742, Perdizes, So Paulo (SP)
CEP: 05016-000
E-mail: ecojureia@ecojureia.org.br
Site: http://www.ecojureia.org.br/
Ongs na rede(1).indd 304 2/23/06 11:29:46 PM
305
O
N
G
s
n
a
R
e
d
e
Associao Ecolgica So Francisco de Assis
Fone: (15) 244-2196
Rua Padre Palma, 109, 1 andar, sala 1, Piedade (SP)
CEP: 18170-000
E-mail: francele@ppnet.com.br
Associao Pr-Bocana
Fone: (12) 576-1714
Fax: (12) 576-1714
Rodovia SP-247, Km 22,5, Caixa Posta 1, Bananal (SP)
CEP: 12850-970
E-mail: proboc@iconet.com.br
Associao Recuperao Florestal Bacia do Rio
Piracicaba (Floresp)
Fone: (19) 3434-2328/3433-1614
Rua Tiradentes, 1139, Centro, Piracicaba (SP)
CEP: 13400-765
E-mail: forespi@uol.com.br
Birdlife International - Brasil (Birdlife Brasil)
Fone: (11) 3815.2862
Alameda Grcia, 297, Barueri (SP)
CEP: 06474-010
E-mail: birdlifebrasil@uol.com.br
Site: www.birdlife.org
Centro de Estudos Ornitolgicos (CEO)
Fone: (11) 7083-7225
Fax: (11) 7083-7225
Caixa Postal 64532, So Paulo (SP)
CEP: 05402-970
E-mail: ceo@ib.usp.br
Site: www.ib.usp.br/ceo/
Centro de Orientao Ambiental Terra Integrada
(Coati)
Fone: (13) 3455-0200/3455-9407
Fax: (13) 3453-2905
Rua Principal, 153, Vila Barra do Uma, Perube (SP)
CEP: 11750-000
E-mail: ongcoatijureia@hotmail.com
ou coatijureia@coatijureia
Site: www.ac- digital.com/coati
Centro Educacional gua Viva (Ceavi)
Fone: (13) 3232-4588
Rua Amador Bueno, 198, Santos (SP)
CEP: 11013-150
E-mail: aguaviva@aguaviva.speedycorp.com.br
Site: www.ceavi.org.br
Coletivo Alternativa Verde (Cave)
Fone: (13) 231-3608
Praa Rubens Ferreira Martins, 19, 13 andar, Esturio,
Santos (SP)
CEP: 11020-100
E-mail: cave@hotmail.com
Comisso Pr-ndio de So Paulo (CPI)
Fone: (11) 3088-6905/3088-7729
Rua dos Pinheiros, 54, Conjunto 2, So Paulo (SP)
CEP: 05422-000
E-mail: cpisp@cpisp.org.br
Site: www.cpisp.org.br
Ecofalante
Fone: (11) 3814-1062
Fax: (11) 3814-1062
Rua Matheus Grou, 539 - 102, So Paulo (SP)
CEP: 05415-050
E-mail: ecofalante@ecofalante.org.br
Site: www.ecofalante.org.br
Federao das Associaes de Recuperao Flores-
tal do Estado de So Paulo (Farespi)
Fone: (11) 3284-6633
Fax: (11) 3284-6633
Rua 13 de Maio, 1558, 4 andar, So Paulo (SP)
CEP: 01327-002
E-mail: faresp@osite.com.br
Fundao Bhaktivedanta
Fone: (12) 3642-5002
Fazenda Nova Gkula, Ribeiro Grande, s/n, Pindamo-
nhangaba, Caixa Postal 164
CEP: 12400-000
E-mail: fbhaktivedanta@bol.com.br
Fundao Santo Andr
Fone: (11) 449-3000
Fax: (11) 440-0248
Av. Prncipe de Gales, 821, Santo Andr (SP)
CEP: 09060-650
E-mail: inform@fsa.br
Fundao SOS Mata Atlntica
Fone: (11) 3055-7888
Fax: (11) 3885-1680
Rua Manoel da Nbrega, 456, Paraso, So Paulo (SP)
CEP: 04001-001
E-mail: smata@alternex.com.br
Site: www.sosma.org.br ou www.sosmatatlantica.org.br
Grupo de Estudos Ambientais da Serra do Mar
Fone: (11) 6111-6973
Caixa Postal 170, Santo Andr (SP)
CEP: 09001970
E-mail: gesmar_grupo@yahoo.com.br
Site: www.gesmar.ubbi.com.br
Grupo Ecolgico Maitan
Fone: (19) 622-3002
Caixa Postal, 276, So Joo da Boa Vista (SP)
CEP: 13870-970
E-mail: eco@maitan.org.br
Site: www.maitan.org.br
Ongs na rede(1).indd 305 2/23/06 11:29:46 PM
306
O
N
G
s
n
a
R
e
d
e
Grupo Ecolgico Nativerde (GEN)
Fone: (19) 680-4791
Fax: (19) 680-4791
Rua Capito Saturnino Barbosa, 145, Vila Pereira, So Jos
do Rio Pardo (SP)
CEP: 13720-000
Instituto guas do Prata (IAP)
Fone: (12) 3663-1608
Fax: (12) 3662-7089
Av. Manoel Pra, 103, A, Alto do Capivari, Campos do
Jordo (SP)
CEP: 12460-000
E-mail: iap1@terra.com.br
Site: www.mingau.org
Instituto Ambiental Vidgua
Fone: (14) 3281-2633
Fax: (14) 3281-2633
Av. Cruzeiro do Sul, 26-40, Bauru (SP)
CEP: 17032-000
E-mail: vidagua@vidagua.org.br
ou rodrigo@vidagua.org.br
Site: www.vidagua.org.br
Instituto Amigos da Reserva da Biosfera da Mata
Atlntica (IARBMA)
Fone: (11) 6232-5728/5725
Fax: (11) 6232-5728
Rua Joo Julio, 296, apto 11, So Paulo (SP)
CEP: 01323-020
E-mail: cnrbma@uol.com.br
Instituto de Educao e Pesquisa Ambiental -
5 Elementos
Fone: (11) 3871-1944
Fax: (11) 3871-1944
Rua: Caio Graco, 379, Lapa, So Paulo (SP)
E-mail: minka@5elementos.org.br
Site: www.5elementos.org.br
Instituto de Pesquisas Ecolgicas (IP)
Fone: (11) 4597-1327
Rodovia Dom Pedro I, km 47, Caixa Postal 47, Nazar
Paulista (SP)
CEP: 12960-000
E-mail: ipe@alternex.com.br ou ipe@ipe.org.br
Site: www.ipe.org.br
Instituto Ecoar para Cidadania
Fone: (11) 3052 1362
Rua Toms Carvalhal, 551, Paraso, So Paulo (SP)
CEP: 04006-001
E-mail: ecoar@ecoar.org.br
Site: www.ecoar.org.br
Instituto Ecovivncia - Estudos, Educao e Tec-
nologias Ambientais (Ieco)
Fone: (12) 525-2168
Fax: (12) 525-2168
Rua Silva Jardim, 52, Vila Paraba, Guaratinguet (SP)
CEP: 12500-000
E-mail: amalia@provale.com.br
Instituto Ing-Ong de Planejamento Socioambiental
Fone: (11) 5572-6853
Fax: (11) 55726853
Rua Dr. Jos de Queiroz Aranha, 155/1512, So Paulo
(SP)
CEP: 04106-061
E-mail: ing-ong@ig.com.br
Instituto Physis - Cultura & Ambiente
Fone: (11) 5575-6001
Fax: (11) 5575-6001
Rua Dona Ana, 11-B, Vila Mariana, So Paulo (SP)
CEP: 04111-070
E-mail: physis@physis.org.br
Site: http://www.physis.org.br
Instituto Pr-Sustentabilidade
Fone: (11) 3887-8228
Fax: (11) 3884-2795
Rua Bento Andrade, 85, So Paulo (SP)
CEP: 04503-010
E-mail: biderman@uol.com.br
Instituto Proteo Ambiental Cotia/Tiet (In Pacto)
Fone: (11) 4614-4889
Fax: (11) 4612-0655
Rua Butant, 111, Cotia (SP)
CEP: 06700-565
E-mail: ong.inpacto@estadao.com.br
Site: www.in-pacto.org.br
Instituto Socioambiental (ISA)
Fone: (11) 3660-7949
Av. Higienpolis, 901, So Paulo (SP)
CEP: 01238-001
E-mail: isa@socioambiental.org
Site: www.socioambiental.org
Ip-Ti-u Vivncia Ambiental
Fone: (11) 3062-3363
Fax: (11) 3062-3363
Rua Fradique Coutinho, 308, apto. 12, So Paulo (SP)
CEP: 05416-000
E-mail: ipatiua@usp.br
Site: www.ipatiua.com.br
Mongue Proteo ao Sistema Costeiro (Mongue)
Fone: (13) 3457-9546
Rua Carlos Ivo da Silva, 61, Perube (SP)
CEP: 11750-000
E-mail : mongue@mongue.org.br
Site: www.mongue.org.br
Ongs na rede(1).indd 306 2/23/06 11:29:47 PM
307
O
N
G
s
n
a
R
e
d
e
Organizao Bio-Bras
Fone: (11) 4799-8199
Rua Professor Jos Veiga , 199, conj. So Sebastio, Mogi
das Cruzes (SP)
CEP: 08725-510
E-mail: biobras@biobras.org.br
Programa Cultural So Sebastio Tem Alma
Fone: (12) 3892-1439/3892-4186
Rua Expedicionrio Brasileiro, 219, So Sebastio (SP)
CEP: 11600-000
E-mail: povosdomar@povosdomar.com.br
Programa da Terra (Proter)
Fone: (13) 3821-6983
Caixa Postal 131, Registro (SP)
CEP: 11900-970
E-mail: arminde@uol.com.br
ou programadaterra@uol.com.br
Sociedade Amigos da Praia do Lzaro (SAL)
Fone: (12) 3842-0888/3842-1742
Caixa Postal 27, Ubatuba (SP)
CEP: 11680-970
E-mail: sunungafats@sunungafats.com.br
Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE)
Fone: (19) 3296-5421
Fax: (19) 3289-1611
Caixa Postal 7031, Parque Taquaral, Campinas (SP)
CEP:13079-970
E-mail: sbe@sbe.com.br
Site: www.sbe.com.br/
Sociedade Comunitria Paraibuna
Fone: (11) 5534-4364
Fax: (11) 5521-5582
Rua Jobe Lane, 440, Jardim Petrpolis, So Paulo (SP)
CEP: 04639-000
E-mail: faferno@embratel.net.br
Sociedade de Defesa Regional do Meio Ambiente
(Soderma)
Fone: (16) 623-3752
Rua Tonias Nogueira Gaia, 1403, Ribeiro Preto (SP)
CEP: 14020-290
E-mail: soderma@uol.com.br
Sociedade de Zoolgicos do Brasil
Fone: s/f
Rua So Joaquim, 979, Centro, So Carlos (SP)
CEP: 13560-161
SOS Manancial
Fone: (11) 3885-1490
Fax: (11) 3885-1490
Rua Batataes, 507, A/91, So Paulo (SP)
CEP: 01423-010
E-mail: sosmanancial@uol.com.br
Site: www.manancialcotia.org.br
Unio Dos Moradores da Juria (UMJ)
Fone: (11) 5073-3091/9707-5651
Fax: (11) 5073-3091
Rua Caminhos Dios Engenhos, s/n, Iguape (SP)
CEP: 11920-000
E-mail: arnaldonevesjr@gmail.com
Vitae Civilis - Instituto para o Desenvolvimento,
Meio Ambiente e Paz
Fone: (11) 4686-1814
Fax: (11) 4686-1851
Rua Josef Strobel, 2478, So Loureno da Serra (SP)
CEP: 06890-000
E-mail: vcivilis@vitaecivilis.org.br
Site: www.vitaecivilis.org.br
Estados Unidos
National Wildlife Federation NWF
Fone: 8008229919
11100 Wildlife Center Drive
Reston- VA
Site: www.nwf.org
Ongs na rede(1).indd 307 2/23/06 11:29:47 PM
308
O
N
G
s
n
a
R
e
d
e
ONGs Inativas*
Associao Alternativa: A Terra Viva
Piat (BA)
Comisso de Defesa do Meio Ambiente do Vale do
Jequiri
Elsio Medrado (BA)
Fundao Ecolgica Puturu
Jussari (BA)
Fundao Pau Brasil
Ilhus (BA)
Instituto Ambiental Boto Negro
Itacar (BA)
Instituto de Desenvolvimento Sustentvel do Lito-
ral Norte da Bahia
Salvador (BA)
Movimento Ambientalista Regional
Valena (BA)
Associao Anapolina de Proteo ao Meio Am-
biente
Anpolis (GO)
Instituto Ac Expedies
Campo Grande (MS)
Ecos
Recife (PE)
Associao Ambiental Sinfonia em Verde e Azul
Cambar (PR)
Associao Pr-Natureza de Penedo
Penedo (RJ)
Centro Fluminense de Estudos e Atividades sobre
Ecologia e Qualidade de Vida
So Gonalo (RJ)
Movimento Conservacionista Teresopolitano
Terespolis (RJ)
Centro de Pesquisa e Assessoria Agroecolgica
Aroeira
Mossor (RN)
Fundao para o Desenvolvimento Ecolgico Sus-
tentvel
Porto Alegre (RS)
Associao Ecolgica Icatu
Cerquilho (SP)
Associao Museu Caiara de Ilha Bela
Ilha Bela (SP)
Associao Salva Mantiqueira
Pindamonhangaba (SP)
Associao Verdecologia Ubatuba - Grupo Guay-
numby
Ubatuba (SP)
Fundao Capricrnio Florestal
Ubatuba (SP)Grupo Ecolgico Vida
guas de Lindia (SP)
Guest House Canto do Sabi
Ubatuba (SP)
Instituto de Gesto Ambiental
Campinas (SP)
Instituto de Pesquisas Ambientais
So Paulo (SP)
Movimento de Preservao de So Sebastio
So Sebastio (SP)
Movimento em Defesa de Ubatuba
Ubatuba (SP)
Organizao Conservacionista Mundo Ancestral
Mogi das Cruzes (SP)
*ONGs inativas so aquelas que foram
fliadas RMA, mas interromperam
suas atividades em carter temporrio
ou defnitivo.
** Alguns telefones com sete dgitos pas-
saram para oito. Nesses casos, coloque um
3 na frente..
Ongs na rede(1).indd 308 2/23/06 11:29:48 PM
309
O
N
G
s
n
a
R
e
d
e
Para se fliar RMA
necessrio:
Ser pessoa jurdica, sem fns lucrativos;
Ter um ano de existncia legal;
Atuar em defesa da Mata Atlntica e/ou ecossistemas associados;
Divulgar informaes referentes sua atuao de modo a viabilizar o intercmbio pretendido
pela Rede;
Contribuir com uma taxa mnima para subsidiar despesas de operao.
Os pedidos de fliao devem ser acompanhados dos seguintes documentos:
1 Cpia do registro no CNPJ;
2 Cpia da ata de fundao e eleio da atual diretoria;
3 Estatuto da instituio;
4 Ficha de fliao preenchida;
5 Relatrio resumo de atividades.
Devem ser encaminhados para o endereo:
SCLN 210 Bloco C Salas 207/208
CEP 70862-530 Braslia DF
recomendvel tambm enviar material que ilustre o trabalho desenvolvido pela organizao.
Os pedidos de fliao sero apreciados pela Assemblia Geral
Ongs na rede(1).indd 309 2/23/06 11:29:48 PM
Ongs na rede(1).indd 310 2/23/06 11:29:54 PM
Estreito do Rio Uruguai 1991.
Inundado pela Hidreltrica de It.
Ongs na rede(1).indd 311 2/23/06 11:30:01 PM
312
B
i
b
l
i
o
g
r
a
f
a
Bibliografa
GERAL
ABSABER, A.N. O Ribeira de Iguape: uma seto-
rizao endereada ao planejamento regional.
Boletim Tcnico da Superintendncia do Desen-
volvimento do Litoral Paulista. So Paulo, n 1:
1-13, jan/1985.
Atlas da evoluo dos remanescentes forestais e ecos-
sistemas associados no domnio da Mata Atlntica
Perodo 1990 a 1995. So Paulo, Fundao SOS
Mata Atlntica, Instituto Socioambiental, Institu-
to Nacional de Pesquisas Espaciais e Sociedade
Nordestina de Ecologia, 1998.
Avaliao e aes prioritrias para a conservao da
biodiversidade para a Mata Atlntica e Campos
Sulinos. Braslia, Ministrio do Meio Ambiente,
2000.
BERNARDES, A.T; MACHADO, A.B.; RYLANDS,
A.B. Fauna brasileira ameaada de extino. Belo
Horizonte, Fundao Biodiversitas para a Conser-
vao da Diversidade Biolgica, 1990.
CMARA, I.G. Plano de Ao para a Mata Atlntica.
So Paulo, Fundao SOS Mata Atlntica/Editora
Interao, 1992.
CAPOBIANCO, J.P. A Mata Atlntica e sua legislao
protetora. Dano ambiental: preveno, reparao
e represso. So Paulo, Editora Revista dos Tri-
bunais, 1993.
CAPOBIANCO, J.P. A Mata Atlntica. Meio Ambien-
te e desenvolvimento: Uma viso das ONGs e dos
movimentos sociais brasileiros. Rio de Janeiro,
Frum de ONGs Brasileiras Preparatrio para a
Conferncia da Sociedade Civil sobre Meio Am-
biente e Desenvolvimento, 1992.
CAPOBIANCO, J.P.; LIMA, A. R. Mata Atlntica:
Avanos legais e institucionais para sua conserva-
o. Documentos do ISA n 4. So Paulo, Instituto
Socioambiental, 1997.
CARVALHO, M.M. Vantagens da arborizao em
pastagens cultivadas. Ribeiro Preto, Imagem
Rural, ano 6, n 58, 1999.
COIMBRA, A.; CMARA, I. B. Os limites originais
da Mata Atlntica na regio Nordeste do Brasil.
Rio de Janeiro, Fundao Brasileira para a Con-
servao da Natureza, 1996.
COSTA, J.P.; ROCHA, A. A. No Matars. So Paulo,
Terra Virgem, 1998.
DEAN, W. A Ferro e Fogo: A histria da devastao da
Mata Atlntica brasileira. So Paulo, Companhia
das Letras, 1996.
DIEGUES, A.C. A pesca artesanal no litoral brasileiro:
cenrio de estratgia e de sobrevivncia. So Pau-
lo, Ncleo de Apoio Pesquisa sobre Populaes
Humanas e reas midas Brasileiras - Universi-
dade de So Paulo/NUPAUB-USP, 1988.
DIEGUES, A.C. Conservao e desenvolvimento
sustentado de ecossistemas litorneos no Brasil.
So Paulo, Ncleo de Apoio Pesquisa sobre
Populaes Humanas e reas midas Brasilei-
ras - Universidade de So Paulo/NUPAUB-USP,
1988.
DIEGUES, A.C. Diversidade biolgica e culturas
tradicionais litorneas: o caso das comunidades
caiaras. So Paulo, Ncleo de Apoio Pesquisa
sobre Populaes Humanas e reas midas Bra-
sileiras - Universidade de So Paulo/NUPAUB-
USP, 1988.
DILLEWIJN, F.J. Inventrio do pinheiro-do-paran.
Curitiba, Codepar, 1966.
Diretrizes para a poltica de conservao e desenvol-
vimento sustentvel da Mata Atlntica. Caderno
n 13. So Paulo, Conselho Nacional da Reserva
da Biosfera da Mata Atlntica, 1999.
NETO, D.B; LINO, C.F. (organizadores). Recursos
forestais da Mata Atlntica: manejo sustentvel
e certifcao. So Paulo, Conselho Nacional da
Reserva da Biosfera da Mata Atlntica, 2003.
Dossi Mata Atlntica 2001. Projeto Monitoramento
Participativo da Mata Atlntica. So Paulo, Instituto
Socioambiental, Sociedade Nordestina de Ecologia
e Rede de ONGs da Mata Atlntica, 2001.
DRUMMOND, J.A. Devastao e preservao am-
biental. Os Parques Nacionais do Estado do Rio
de Janeiro. Niteri, Eduff, 1997.
EITEN, G. A vegetao do Estado de So Paulo. Bo-
letim do Instituto de Botnica, n 7, jan/1970.
ENCINAS, J.I. Relquias Bibliogrfcas Florestais.
Comunicaes Tcnicas Florestais. Braslia, Uni-
versidade de Braslia, 2001.
FALKENBERG, D.B. Aspectos da fora e da vege-
tao secundria da restinga de Santa Catarina,
Sul do Brasil. nsula n. 30. 1999.
FERRI, M.G. Ecologia e poluio. So Paulo, Melho-
ramentos, srie Prisma, 1976.
FERRI, M.G. Vegetao brasileira. So Paulo, Edusp
e Liv. Itatiaia, s.d.
Bibliografia(1).indd 312 2/23/06 10:30:50 PM
313
B
i
b
l
i
o
g
r
a
f
a
FRANA, S.C. A ocupao das matas primitivas do
Vale do Ribeira: desmatamento e desenvolvimen-
to. Jaboticabal, Faculdade de Cincias Agrrias e
Veterinrias, Unesp, 52 p., il., 1984 (paper).
Fundao SOS Mata Atlntica. Dossi Mata Atlntica
1992. So Paulo, 1992.
Fundao SOS Mata Atlntica. Workshop Mata Atln-
tica, Anais. So Paulo, 1990.
Fundao SOS Mata Atlntica. Atlas da evoluo
dos remanescentes florestais e ecossistemas
associados do Domnio da Mata Atlntica no
perodo 1985-1990. So Paulo, Fundao SOS
Mata Atlntica/Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais, 1993.
Fundao SOS Mata Atlntica. Banco de dados da
Mata Atlntica. So Paulo, n.1, 1993.
Fundao SOS Mata Atlntica. Diagnstico preliminar
do Parque Estadual da Ilha do Cardoso. So Pau-
lo, Fundao SOS Mata Atlntica/Engea, 1993.
HOEHNE, F.C. Araucarilndia: Observaes geraes
e contribuies ao estudo da fora e phytophysio-
nomia do Brasil. So Paulo, Companhia Melho-
ramentos, 1930.
HOEHNE, F.C. Observaes gerais e contribuies ao
estudo da fora e ftofsionomia do Brasil: o litoral
do Brasil Meridional. So Paulo, Departamento
de Botnica do Estado, 1940.
HOLANDA, S. B. Razes do Brasil. 26 ed. So Paulo,
Companhia das Letras, 1995.
HUECK, K. Plantas e formao organognica das
dunas do litoral paulista: Parte I. So Paulo,
Instituto de Botnica, 130 p., il., 1955.
IBGE-Instituto Brasileiro de Geografa e Estatstica.
Cadastro de reas especiais. Rio de Janeiro,
1990.
IBGE-Instituto Brasileiro de Geografa e Estatstica.
Censo populacional. Rio de Janeiro, 1991.
IBGE-Instituto Brasileiro de Geografa e Estatstica.
Contagem da populao. Rio de Janeiro, 1996.
IBGE-Instituto Brasileiro de Geografa e Estatstica.
Mapa de vegetao do Brasil. Rio de Janeiro,
1989.
IBGE-Instituto Brasileiro de Geografa e Estatsti-
ca. Mapa da vegetao do Brasil. 2 ed. escala
1:5.000.000, Rio de Janeiro, 1993.
IHERING, R. Da vida de nossos animais: fauna do
Brasil. So Leopoldo, Rotermund, 320 p., 1963.
JANZEN, D.H. Herbivores and the number of tree
species in tropical forests. The American Natura-
list 104 (904): 501 528. 1970.
JOLY, A.B. Conhea a vegetao brasileira. So
Paulo, Edusp/Polgono, 181 p., il., 1970.
JOLY, C.A.; BICUDO, C.E. (organizadores). Biodi-
versidade do Estado de So Paulo, Brasil: sntese
do conhecimento ao fnal do sculo XX, v. 2 e 6.
So Paulo, Fapesp, 1998.
KLEIN, R.M. Ecologia da fora e vegetao do Vale
do Itaja. Sellowia. Itaja, Anais Botnicos do
Herbrio Barbosa Rodrigues, 31/32:11-389 e
32:165-389, 1979/80.
KOCH, Z.; CORRA, M.C. Araucria: a foresta do
Brasil meridional. Curitiba, Editora Olhar Brasi-
leiro, 148 p., 2002.
LACERDA, L.D. Manguezais, forestas a beira-mar.
Cincia Hoje. Rio de Janeiro, SBPC, v. 3, 13:63-
70, il., 1984.
LEITE, P.F. As diferentes unidades ftoecolgicas da
regio Sul do Brasil: proposta de classifcao.
Curitiba, UFPr. 155 f. Dissertao (mestrado Ci-
ncias Florestais). Setor Cincias Agrrias/UFPr,
1994.
LEITE, P.F.; KLEIN, R.M. Vegetao. In: IBGE.
Geografa do Brasil: Regio Sul. Rio de Janeiro,
IBGE, p. 113-150. 1990.
LORENZI, H. rvores brasileiras: manual de iden-
tifcao e cultivo de plantas arbreas nativas do
Brasil. Nova Odessa, Editora Plantarum, 1992.
MAGNANINI, A. Aspectos ftogeogrfcos do Brasil:
reas e caractersticas no passado e no presente.
Revista Brasileira de Geografa, 13(4), out./dez.,
1961.
MARTUSCELLI, P.; RODRIGUES, M.G. Novas
populaes da espcie Leontopithecus caissara
no litoral sul do Estado de So Paulo. Anais do
2 Congresso Nacional sobre Essncias Nativas.
So Paulo, Instituto Florestal, Secretaria do Meio
Ambiente, 1992.
Ministrio da Educao. Atlas da fauna brasileira.
So Paulo, MEC/Fename e Melhoramentos, 128
p., il., 1978.
MITTERMEIER, R. A.; MYERS, N.; MITTER-
MEIER, C. G. Hotspots: earths biologically ri-
chest and most endangered terrestrial ecoregions.
Mxico City: Conservation International, 1999.
NOFFS, P.S.; GONALVES, J.C.; GALLI, L.F. Recu-
perao de reas degradadas da Mata Atlntica.
Caderno n 3 da Reserva da Biosfera. So Paulo,
Cesp, 1996.
Bibliografia(1).indd 313 2/23/06 10:30:51 PM
314
B
i
b
l
i
o
g
r
a
f
a
Nosso Futuro Comum. Rio de Janeiro, Comisso Mun-
dial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento.
Fundao Getlio Vargas, 1988.
OLIVEIRIA, K.L.; PEREIRA, L.C. Censo de primatas
na rea de Proteo Ambiental de Guaraquea-
ba, PR. Curitiba, Sociedade de Pesquisa em Vida
Selvagem e Educao Ambiental, 1990.
PADUA, J.A. Natureza e projeto nacional: as origens
da ecologia poltica no Brasil. In: Ecologia &
Poltica no Brasil. Rio de Janeiro, Editora Espao
e Tempo, IUPERJ, 1987.
PADUA, S. & TABANEZ, M. (org.). Educao am-
biental: caminhos trilhados no Brasil. Braslia,
IP Instituto de Pesquisas Ecolgicas, 1997.
PADUA, S. & TABANEZ, M. (org.). Uma abordagem
participativa para a conservao de reas natu-
rais: educao ambiental na Mata Atlntica. In:
Anais do Congresso de Unidades de Conservao.
Curitiba, Paran, 1997. 2:371-379, 1997.
Parablicas, n 37. So Paulo, Instituto Socioambiental
(ISA), 1998.
PDA 5 Anos: uma trajetria pioneira. Braslia, PPG7
- Programa Piloto para a Proteo das Florestas
Tropicais do Brasil, 2001.
PIMM, S.L. The balance of nature? Ecological issues
in the conservation of species and communities.
Chicago, The University Chicago Press. 434 p.,
1991.
PONTING, C. The green history of the world. Nova
Iorque, EUA, Penguin Books USA Inc., 1991.
PROCHNOW, M. Manejo e recuperao na Flores-
ta Atlntica e produo de mudas. Anais da 5a
Reunio Especial da SBPC Sociedade Brasileira
para o Progresso da Cincia. Blumenau, FURB
Editora da Universidade Regional de Blumenau,
1997.
PROCHNOW, M. Dinmicas regionais da luta am-
biental: O movimento em Santa Catarina. Revista
Proposta Experincias em Educao Popular, n
56. Desenvolvimento e Meio Ambiente. Rio de
Janeiro, Fase, 1993.
PROCHNOW, M. et al. Mata Ciliar. Rio do Sul,
Apremavi, 1995.
Recursos Florestais da Mata Atlntica. Anais I Semi-
nrio Nacional. So Paulo, Conselho Nacional da
Reserva da Biosfera da Mata Atlntica, 2000.
REIS, A. et alii. Sistemas de implantao do palmi-
teiro (Euterpe edulis Martius). In: Anais do 2
Congresso Nacional sobre Essncias Nativas.
So Paulo, Revista do Instituto Florestal, V. 3. p.
710-713, 1992.
REIS, A. Disperso de sementes de Euterpe edulis
Martiuspalmae em uma foresta ombrfla densa
montana da encosta Atlntica em Blumenau, SC.
Tese de doutorado. Campinas, Unicamp, 1995.
REIS, A. et alii. Efeito de diferentes nveis de desse-
camento na germinao de sementes de Euterpe
edulis Martius Arecaceae. Insula 28:31 42,
1999.
REIS, M.S. et alli. Sustainable yield management of
Euterpe edulis Martius (Palmae): a tropical palm
tree from the Atlantic Tropical Forest - Brazil
11(3):1-17, 2000.
REIS, A., KAGEYAMA, P.Y. Demografa de Euter-
pe edulis Martius (Arecaceae) em uma Floresta
Ombrfla Densa Montana, em Blumenau, SC.
Sellowia, 45-48: 13-45, 1996.
REITZ, R.; KLEIN, R. M.; REIS, A. Projeto Madeira
de Santa Catarina. Herbrio Barbosa Rodrigues,
Itaja, Sudesul/IBDF, 1978.
RIBEIRO, J.A.; LIMA, L.C. Como usar, sem destruir,
as Reservas Legais e Matas Ciliares. Rondnia,
Ecopor, 2001.
RODRIGUES, M.G.; Katsuyama, S.; Rodrigues, C.A.
Estratgias para conservao do mico-leo-caia-
ra, Leontopithecus caissara. Anlise da situao
econmico-social da comunidade do Ariri - Parte
I. Anais do 2 Congresso Nacional sobre Essncias
Nativas. So Paulo, Instituto Florestal, Secretaria
do Meio Ambiente, 1992.
SALERNO, A.R. Essncias da Mata Atlntica com
potencial para reforestamento. Agropecuria Ca-
tarinense, Florianpolis, 4(4): 42-45, dez., 1991.
SANTOS, E. Pssaros do Brasil. Belo Horizonte,
Editora Itatiaia, 1985.
SASSON, A. Alimentando o mundo de amanh. Rio
de Janeiro, Imago, 1993.
SCHFFER, W. B. Quanto vale uma semente de r-
vore nativa? Blumenau, SC, FURB Editora da
Universidade Regional de Blumenau, 1988.
SCHFFER, W. B. Anlise do Programa de Restau-
rao e Reforestamento de Matas Ciliares na
Bacia do Rio Itaja-Au. Dynamis. Revista Tecno-
Cientfca da FURB Universidade Regional de
Blumenau, 2(8), jul.-set. 1994.
SCHFFER, W. B.; PROCHNOW, M. (organizado-
res). A Mata Atlntica e voc: como preservar, re-
cuperar e se benefciar da mais ameaada foresta
Bibliografia(1).indd 314 2/23/06 10:30:51 PM
315
B
i
b
l
i
o
g
r
a
f
a
brasileira. Rio do Sul, SC, Apremavi, 2002.
SCHERER NETO, P. Aves do Estado do Paran. Rio
de Janeiro, Zoo-Bot. M. Nordelli, 1980.
SEVEGNANI, L.; BAPTISTA, L.R. Composio
forstica de uma Floresta Secundria, no mbito
da Floresta Atlntica. Sellovia Anais Botnicos
do Herbrio Barbosa Rodrigues. Maquine, p. 47-
71, p. 188, 1998.
SEVEGNANI, L.; BOOS JUNIOR, H.; SOBRAL, M.
Levantamento forstico de uma foresta secund-
ria, Salto Weissbach, Blumenau, SC. (relatrio
no publicado). 1997.
SOARES, I. R. et alii. Arborizao e Paisagismo. Rio
do Sul, Apremavi, 1997.
SOBRAL, M.; SEVEGNANI, L. Levantamento fors-
tico de uma foresta primria, Varaneira, Rio do
Campo, SC (relatrio no publicado), 1998.
Sociedade de Botnica do Brasil. Centuria Planta-
rum Brasiliensium Exstintionis Minitata. Rio de
Janeiro, 1992.
STRUFFALDI DE VUOLO, Y. Estudos ecolgicos
bsicos em reas preservadas do bioma de Mata
Atlntica no Parque Estadual da Ilha do Cardo-
so. So Paulo, Instituto de Botnica da Secretaria
Estadual do Meio Ambiente, s.d.
Tratado das ONGs. Rio de Janeiro, Frum Brasileiro
de ONGs e Movimentos Sociais, no mbito do
Frum Global, 1992.
VELOSO, H.P. et alii. Classifcao da vegetao
brasileira adaptada a um sistema universal. Rio
de Janeiro, IBGE, 1991.
VELOSO, H. P.; KLEIN, R. M. As comunidades e
associaes vegetais da mata pluvial do Sul do
Brasil I. - As comunidades do Municpio de Brus-
que, Santa Catarina. Sellowia, 9:81-235, 1957.
VELOSO, H. P.; KLEIN, R. M. As comunidades e
associaes vegetais da mata pluvial do Sul do
Brasil II. - As comunidades do Municpio de Brus-
que, Santa Catarina. Sellowia, 10:10-124. 1959.
VELOSO, H. P.; KLEIN, R. M. As comunidades e
associaes vegetais da mata pluvial do Sul do
Brasil V. Agrupamentos arbreos da encosta ca-
tarinense, situados em sua parte norte. Sellowia,
20: 53-126, 1968.
VIBRANS, A.C. Subsdios para o manejo de
uma foresta secundria, Salto Weissbach,
Blumenau, SC. Blumenau, FURB. Disser-
tao (Mestrado Engenharia Ambiental),
Centro Tecnolgico/ FURB, 1999.
VICTOR, M. A. A devastao forestal. Sociedade
Brasileira de Silvicultura. So Paulo, 1975.
WACKERNAGEL, M.; REES, W. Our ecological
footprint: reducing human impact on the Earth.
Gabriola Island, Canad, New Society Publishers,
1996.
WETTSTEIN, R.R. Plantas do Brasil: aspectos da
vegetao do Sul do Brasil. So Paulo, Editora
Edgard Blcher Ltda, Editora da Universidade de
So Paulo, 1970.
POR ESTADO
Santa Catarina
BIGARELA, J.J. Variaes climticas no quaternrio
e suas implicaes no revestimento forstico do
Paran. Boletim Paranaense de Geografa: 1015,
1964.
Fupef. Inventrio do Pinheiro no sul do Brasil. Curi-
tiba, Fupef, 1978.
KLEIN, R.M. O aspecto dinmico do pinheiro do
Paran. Sellowia 12: 17-43, 1960.
KLEIN, R.M. Observaes e consideraes sobre
a vegetao do planalto nordeste catarinense.
Sellowia 15: 3954, 1963.
KLEIN, R.M. Mapa ftogeogrfco do Estado de Santa
Catarina. Itaja, HBR-Dioesc, 1978.
LONGHI, S.J. A estrutura de uma foresta natural
de Araucaria angustifolia (Bert.) O. Ktze no sul
do Brasil. Curitiba, dissertao mestrado, UFPR,
1980.
MEDEIROS, J.D. A biotecnologia e a extino de
espcies. Biotecnologia, 30, 2003.
MMA. Avaliao e aes prioritrias para a con-
servao da biodiversidade da Mata Atlntica e
Campos Sulinos. Braslia, MMA-SBF, 2000
REITZ P.R.; KLEIN, R.M. Araucariceas. In: Flora
Ilustrada Catarinense, ARAU: 1-62, 1966.
Paran
CASTELLA P. R.; BRITEZ R. M. (org.). Floresta com
Araucria no Estado do Paran: conservao e
diagnstico dos remanescentes forestais. Fupef
- Fundao de Pesquisas Florestais do Paran Fun-
dao de Pesquisas Florestais do Paran. Braslia,
Ministrio do Meio Ambiente, 2004.
Fupef Fundao de Pesquisas Florestais do Paran.
Conservao do Bioma Floresta com Araucria:
relatrio fnal - Diagnstico dos remanescentes
forestais. Curitiba, 2001.
Bibliografia(1).indd 315 2/23/06 10:30:52 PM
316
B
i
b
l
i
o
g
r
a
f
a
GUBERT, F. A. Levantamento de reas de relevante
interesse ecolgico (ARIE) no Paran. In: Con-
gresso Florestal do Paran, 2. Anais Curitiba, Insti-
tuto Florestal do Paran, v. 1, p. 136-160, 1988.
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal
IBDF. Inventrio Florestal Nacional: Flores-
tas/Nativas Paran/Santa Catarina. Curitiba,
Funpar, 1984.
LEITE, P. F. As diferentes unidades ftoecolgicas da
regio sul do Brasil - proposta de classifcao.
Curitiba, Dissertao (Mestrado em Engenharia
Florestal) - Setor de Cincias Agrrias, Universi-
dade Federal do Paran, 1994.
MAACK, M. Geografa Fsica do Estado do Paran.
Curitiba, Banco de desenvolvimento do Estado do
Paran, UFPR, Instituto de Biologia e Pesquisas
Tecnolgicas, 1968.
Sema - Secretaria do Estado do Meio Ambiente e
Recursos Hdricos. Mapeamento da Floresta
Atlntica do Estado do Paran. Programa Floresta
Atlntica, Governo do Estado do Paran, 2002.
SOS Mata Atlntica; Inpe; ISA. Atlas dos remanes-
centes forestais da Mata Atlntica no perodo de
1995-2000. Fundao SOS Mata Atlntica, Insti-
tuto Nacional de Pesquisas Espaciais e Instituto
Socioambiental, 2001.
VELOSO, H.P.; GES-FILHO, L. Fitogeografia
brasileira: Classifcao fsionmico ecolgica da
vegetao neotropical. Bol. Tc. Proj. Radambra-
sil, srie Vegetao, 1: 3-79, 1982.
VELOSO, H.P.; RANGEL-FILHO, A.L.R.; LIMA,
I.C.A. Classificao da vegetao brasileira
adaptada a um sistema Universal. Rio de Janeiro.
IBGE/DERMA, 1991.
So Paulo
GUILLAUMON, J. R. A crise energtica e a des-
truio da cobertura vegetal natural na regio
de Ribeiro Preto, no perodo de 1962 a 1984.
In: III Congresso Brasileiro de Defesa do Meio
Ambiente. Anais, volune 2.
GUILLAUMON, J. R. Mudana do Plo Econmico
do Nordeste para o Sudeste no Brasil e a destrui-
o da Floresta-Mata Atlntica. So Paulo, Re-
vista do Instituto Florestal, v.1, n.2, Secretaria do
Meio Ambiente Coordenadoria de Proteo de
Recursos Naturais do Instituto Florestal, 1989.
GUILLAUMON, J. R.; KRONKA, F. J. N. Proposta
de diretrizes polticas para a auto-sustentabilida-
de das forestas paulistas Uma contribuio
Agenda 21. Trabalho apresentado no II Congresso
Internacional de Compensado e Madeira Tropical.
Belm, Anais II Congresso Internacional de Com-
pensado e Madeira Tropical, 1994.
Instituto Florestal; Universidade de Campinas; Escola
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/
USP). Inventrio Florestal da Vegetao Natural
do Estado de So Paulo. So Paulo, Secretaria do
Meio Ambiente/Instituto Florestal, 2005.
Instituto Florestal. 1886-1994 Mais de um Sculo de
Histria. So Paulo, IF Srie Registros, 12, Edio
Especial, 1994.
Prefeitura de So Paulo, Secretaria Municipal de Pla-
nejamento Urbano, Secretaria Municipal do Verde
e Meio Ambiente. Atlas Ambiental do Municpio
de So Paulo.
Rio de Janeiro
RAMBALDI, D. M.; MAGNANINI, A.; ILHA, A.;
LARDOSA, E.; FIGUEIREDO, P.; OLIVEIRA,
R. F. A Reserva da Biosfera da Mata Atlntica no
Estado do Rio de Janeiro. Srie Estados e Regi-
es da RBMA. So Paulo, Conselho Nacional da
Reserva da Biosfera da Mata Atlntica e Ministrio
do Meio Ambiente, 2002.
Esprito Santo
AMORIM, H. B. (coordenador). Inventrio Florestal
Nacional: Florestas Nativas - Rio de Janeiro e
Esprito Santo. Braslia, Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Floresta, 1984.
BITTENCOURT, G. A Formao Econmica do Es-
prito Santo: o roteiro da industrializao. Vitria,
Ctedra, 1987.
BORGO, I.A.L.; ROSA, L.B.R. DE A.; PACHECO,
R.J.C. Norte do Esprito Santo: ciclo madeireiro e
povoamento (1810-1960). Vitria, Edufes, 1996.
Comisso Coordenadora do Relatrio Estadual sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento. Meio Ambien-
te e Desenvolvimento no Esprito Santo: Relatrio
Final. Vitria, Copisol Ltda., 1992.
Bibliografia(1).indd 316 2/23/06 10:30:53 PM
317
B
i
b
l
i
o
g
r
a
f
a
Fundao SOS Mata Atlntica; Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE). Atlas dos remanes-
centes forestais da Mata Atlntica no perodo
1995-2000. So Paulo, 2002.
Fundao SOS Mata Atlntica; Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE); Instituto Socioam-
biental (ISA). Atlas da evoluo dos remanes-
centes forestais e ecossistemas associados no
Domnio da Mata Atlntica no perodo 1990-1995.
So Paulo, 1998.
GOUVA, J.B.S. DE. Consideraes e reconheci-
mento ftogeogrfco em reas do baixo curso do
Vale do Rio Doce. Boletim Paulista de Geografa,
n. 49, p. 23-30, 1974.
HEINSDIJK, D.; MACEDO, J.G. D.E.; ANDEL, S.;
ASCOLY, R.B. A foresta do Norte do Esprito
Santo. Bol. Rec. Nat. Renov. Ministrio da Agri-
cultura, 7:1-69, 1965.
IBGE. Geografa do Brasil - Regio Sudeste. Rio de
Janeiro, Serfraf, v.3, 1977.
IBGE. Projeto Radam v. 34. Folha SE 24 Rio Doce.
Rio de Janeiro, 1987.
IBGE. Censo Agropecurio 1995-1996. Rio de Ja-
neiro, 1988.
IBGE. Censo Demogrfco. Disponvel em: <http://
www.ibge.gov.br.> Capturado em: 19 jun. 2002.
IBGE. Mapa de biomas do Brasil: primeira aproxi-
mao, 2004. Disponvel em: <http://www.ibge.
gov.br.> Capturado em: 09 mai. 2005.
Ipema - Instituto de Pesquisas da Mata Atlntica.
Conservao da Mata Atlntica no Estado do
Esprito Santo: Cobertura florestal, unidades
de conservao e fauna ameaada (Programa
Centros para a Conservao da Biodiversidade
Conservao Internacional do Brasil)/Ipema.
Vitria, Ipema, 2004.
MEDEIROS, R. Tragdia do Suruaca - o alagado
que est virando deserto. Rev. Sculo, ano 11, n
19, 2001.
PEIXOTO, A.L. Consideraes preliminares sobre a
fora e a vegetao da reserva forestal da Com-
panhia Vale do Rio Doce (Linhares-ES). Cadernos
de Pesquisa-2, Srie Botnica-1, Universidade
Federal do Piau, p. 41-48, 1982.
PEIXOTO, A.L.; ROSA, M.M.T. DA; JOELS, L.C.M.
Diagramas de Perfl e de cobertura de um trecho
da Floresta de Tabuleiro na Reserva Florestal de
Linhares (Esprito Santo, Brasil). Acta Botanica
Braslica, v.9, n.2, p. 1-17, 1995.
RIZZINI, C.T. Tratado de ftogeografa do Brasil
aspectos sociolgicos e forsticos. So Paulo,
Edusp, vol. 2, 1979.
RIZZINI, C.T. Tratado de ftogeografa do Brasil
aspectos ecolgicos, sociolgicos e forsticos.
Rio de Janeiro, mbito Cultural Edies Ltda.,
2 Ed., 1997.
RUSCHI, A. Fitogeografa do Estado do Esprito San-
to. Boletim do Museu de Biologia Mello Leito,
Srie Botnica, n. 1, 1950.
RUSCHI, A. As restingas do Estado do Esprito Santo.
Boletim do Museu de Biologia Mello Leito, Srie
Botnica, n. 91, 1979.
SCHETTINO, L.F. Gesto Florestal Sustentvel Um
diagnstico no Esprito Santo, 2000.
SEAG Setor Florestal do Esprito Santo. Diagns-
tico - Estratgias de Ao. Secretaria de Estado
da Agricultura - Banco de Desenvolvimento do
Esprito Santo S.A. Del Rey Servios de Enge-
nharia Ltda., 1988.
Seama. Projeto Gerenciamento Costeiro do Estado
do Esprito Santo: Regio Litoral Norte. Vitria,
1998.
SFORZA, R. Propostas de Criao de Unidades de
Conservao Federais Marinhas e Costeiras no
Estado do Esprito Santo. Projeto Tamar/Ibama,
Gerex-ES, 2003.
SIMONELLI, M. Composio forstica e estrutura
do estrato arbreo de uma muununga na Reser-
va Florestal de Linhares, Esprito Santo. Viosa
(MG), dissertao de mestrado, UFV, 1998.
VALE, L.C.C.; PEREIRA, J.A.A.; FERNANDES,
M.R.; MORAIS, E.G. Programa de Desenvolvi-
mento Florestal do Esprito Santo. Governo do
Estado do Esprito Santo - Secretaria de Estado
da Agricultura - Banco de Desenvolvimento, v.
1, 1989.
Bahia
ASSUMPO, A.B. 2002. Terra Viva: Meio Ambiente
e Reforma Agrria na Costa do Descobrimento.
In: Subprograma Projetos Demonstrativos PDA.
Sistemas Agroforestais em Assentamentos de
Reforma Agrria. Experincias PDA (2). Braslia,
PPG7, SCA, MMA, 2002.
AYRES, J.M.; FONSECA, G.A.B.; RYLANDS, A.B.;
QUEIROZ, H.L.; PINTO, L.P. DE S.; MAS-
TERSON, D.; CAVALCANTI, R. Abordagens
Inovadoras para Conservao da Biodiversidade
Bibliografia(1).indd 317 2/23/06 10:30:53 PM
318
B
i
b
l
i
o
g
r
a
f
a
do Brasil: Os Corredores Ecolgicos das Flores-
tas Neotropicais do Brasil - Verso 3.0. Braslia,
Programa Piloto para a Proteo das Florestas
Neotropicais, Projeto Parques e Reservas. Minis-
trio do Meio Ambiente, Recursos Hdricos e da
Amaznia Legal (MMA), Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renov-
veis (Ibama), Braslia, 1997.
BATISTA, M. A. Distribuio e dinmica espacial de
abelhas sociais Meliponini em um remanescente
de Mata Atlntica (Salvador, Bahia, Brasil). Dis-
sertao de Mestrado, FFCLRP-USP, 2003.
Conservation International; The World Bank; Global
Environment Facility; The John D. and Catherine
T. MacArthur Foundation. 2001. Mata Atlntica,
Hotspot da Biodiversidade - Perfl de Ecossiste-
ma. Washington, DC, Conservation International,
2001.
CORDEIRO, P.H.C. A Fragmentao da Mata
Atlntica no Sul da Bahia e suas Implicaes na
Conservao dos Psitacdeos. In: Ecologia e Con-
servao de Psitacdeos no Brasil. Belo Horizonte,
Mauro Galetti e Marco Aurlio Pizo (Editores),
Melopsittacus Publicaes Cientfcas, 2002.
CORDEIRO, P.H.C. Anlise dos Padres de Distribui-
o Geogrfca das Aves Endmicas e a Importn-
cia do Corredor da Serra do Mar e do Corredor
Central para Conservao da Mata Atlntica.
Relatrio no publicado. Rio de Janeiro, 2002.
FONSECA, G.A.B.; PINTO, L.P.S.; RYLANDS,
A.B. Biodiversidade e Unidades de Conservao.
Anais do Congresso Brasileiro de Unidades de
Conservao, Vol. I - Conferncias e Palestras. p.
189-209. Curitiba, 15 a 23 de novembro de 1997.
Curitiba, Universidade Livre do Meio Ambiente,
Rede Pr-Unidades de Conservao e Instituto
Ambiental do Paran, 1997.
FORMAN, R.T.T. Land Mosaics: The Ecology of
Landscapes and Regions. Cambridge, Cambridge
University Press, 1995.
Fundao SOS Mata Atlntica. Dossi Mata Atlntica.
So Paulo, Fundao SOS Mata Atlntica, 1992.
GRELLE, C.E.V.; FONSECA.; G.A.B.; FONSECA,
M.T.; COSTA; L.P. The Question of Scale in Threat
Analysis: A Case Study With Brazilian Mammals.
Animal Conservation 2: 149-152, 1999.
GUEDES, M.L.S.; BATISTA, M.A.; RAMALHO,
M. ;FREITAS, H.B.; SILVA, E.M. Uma Breve
Incurso sobre a Diversidade da Mata Atlntica.
In: Mata Atlntica e Biodiversidade. Franke, C. R.;
Rocha, P. L. B.; Klein, W.; Gomes, S. L. (orgs).
Edufba, 2005.
KINZEY, W.G. Distribution of primates and forest re-
fuges. In: Biological Diversifcation in the Tropics
(Ed: Prance,GT). New York, Columbia University
Press, p. 455-482, 1982.
MATOS , E. N. As Pr i n c i p a i s Ame a -
as Cons e r v a o no Cor re dor de
Bi odi versi dade Cent ral da Mat a At l n-
t i ca. Rel at ri o Tcni co no publ i cado,
pr epar ado par a o Fundo de Par ce-
ri a para Ecossi st emas Cr t i cos - Mat a
Atlntica. Belo Horizonte, Conservation Interna-
tional do Brasil, 2001.
Ministrio do Meio Ambiente - MMA. Avaliao e
aes prioritrias para a conservao da biodi-
versidade da Mata Atlntica e Campos Sulinos.
Conservation International do Brasil, Fundao
SOS Mata Atlntica, Fundao Biodiversitas, Ins-
tituto de Pesquisas Ecolgicas, Secretaria do Meio
Ambiente do Estado de So Paulo, Sema/Instituto
Estadual de Florestas-MG. Braslia, MMA, SBF,
2000.
MORI, S.A.; B.M. BOOM. Botanical survey of the
moist forests of eastern Brazil. New York, New
York Botanical Garden, 1981.
MORI, S.A.; BOOM, B.M.; Carvalho, A.M; Santos,
T.S. Southern Bahian Moist Forests, The Botanical
Review 49: 155-232, 1983.
PACHECO, J.F.; WHITNEY, B.M.; GONZAGA,
L.A.P. A new genus and species of furnariid (Aves:
Furnariidae) from the cocoa-growing region of
southeastern Bahia, Brazil. Wilson Bulletin 108:
397-433, 1996.
PIMENTA, B.V.S.; SILVANO, D.L. Inventrio e
Diversidade de Espcies de Anfbios Anuros no
Sul da Bahia. In: Cordeiro, P.H.C.; Silvano, D.L.;
Pimenta, B.V.S.; Fonseca, G.A.B.; Pinto, L.P.S.
Inventrio e Diversidade de Espcies de Aves e
Anfbios Anuros no Sul da Bahia. Relatrio Tc-
nico no publicado. Belo Horizonte, Conservation
International do Brasil, 2000.
PIMENTA, B.V.S.; SILVANO, D.L.Pesquisa Biolgi-
ca Anfbios. Relatrio Tcnico Preliminar. Sub-
projeto: Abordagens Ecolgicas e Instrumentos
Econmicos para o Estabelecimento do Corredor
do Descobrimento. Ilhus, MMA/PROBIO, IESB,
2002.
Bibliografia(1).indd 318 2/23/06 10:30:54 PM
319
B
i
b
l
i
o
g
r
a
f
a
Projeto Corredores Ecolgicos. Documento Base para
a Elaborao das Diretrizes Operacionais. Relat-
rio elaborado pelas instituies colaboradoras do
CCMA, Grupo Viabilizador e Equipe Executora
do PCE/CCMA. Braslia, MMA ,IEMA, GTZ,
2005.
Projeto Corredores Ecolgicos. Diretrizes Operacio-
nais da Fase II do Projeto Corredores Ecolgicos,
Corredor Central da Mata Atlntica (CCMA).
Braslia, MMA,IEMA,GTZ, 2005.
RAMALHO, M.; BATISTA, M. A. Polinizao na
Mata Atlntica: perspectiva ecolgica da frag-
mentao. In: Mata Atlntica e Biodiversidade,
2005.
FRANKE, C. R.; ROCHA, P. L. B.; KLEIN, W.;
GOMES, S. L. (orgs). A Vistoria nos Planos de
Manejo Florestal no Extremo Sul da Bahia, a
Explorao da Cabruca e Outras Consideraes.
Salvador, Rede de ONGs da Mata Atlntica, Edu-
fba, 2001.
Rede de ONGs da Mata Atlntica. Comentrios sobre
o relatrio Levantamento e Vistoria de PMFS
no Sul e Extremo Sul do Estado da Bahia, pro-
duzido pela Coordenadoria de Manejo Florestal
(COMAF/DEREF/Ibama). Texto no publicado.
Ilhus, 2001.
REZENDE MENDONA, J. 45 Anos de Desma-
tamento no Extremo Sul da Bahia. Calendrio.
Ilhus, Convnio Ceplac, The New Tork Botanical
Garden, 1994.
ROCHA, R.; ALGER, K.; REID, J.; LOUREIRO, W.;
HORLANDO, H.; VILLANUEVA, P. Conserva-
o atravs de polticas pblicas. In: A Conser-
vao da Mata Atlntica no Sul da Bahia. Ilhus,
Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da
Bahia (IESB), 2001.
SICK, H. Ornitologia brasileira. Rio de Janeiro, Nova
Fronteira, 1997.
SILVA, J.M.C.; CASTELETI, C.H.M. O Estado da
Biodiversidade da Mata Atlntica. Relatrio Tc-
nico do Estado de Conservao da Mata Atlnti-
ca. Belo Horizonte, Conservation International,
Fundao SOS Mata Atlntica, 2001.
THOMAS, W. W.; CARVALHO A. M. Atlantic moist
forest of Southern Bahia. In: S. D. Davis et al.
Londres, Centres of plant diversity: a guide and
strategy for their conservation. vol. 3, 364-368,
WWF, IUCN, 1997.
THOMAS, W. W.; CARVALHO A. M.; AMORIM,
A. M.; GARRISON, J.; ARBELEZ, A. L. Plant
endemism in two forests in southern Bahia, Brazil.
Biodiversity and Conservation 7, 1998.
TIMMERS, J.F. Presentation of the Brazilian Dis-
covery Coast as Natural Property to Be Nomi-
nated for Inscription to the World Heritage List.
Braslia, Secretaria de Biodiversidade e Florestas
do Ministrio do Meio Ambiente (MMA/SBF),
Ibama/DIREC, 1998.
TIMMERS J.F; MESQUITA, C.A.B.; PINTO, L.P.S.
Ampliao da Rede de Unidades de Conservao
de Proteo Integral no Sul e Extremo Sul da
Bahia. Flora Brasil. IESB. Conservation Interna-
tional do Brasil, 2002.
TIMMERS, J.F. Comrcio de Madeira no Extremo-Sul
da Bahia: Avaliao de Impacto Sobre os Rema-
nescentes de Mata Atlntica na Regio do Parna
Monte Pascoal. Relatrio Tcnico. Itamaraju
(BA), Flora Brasil, 2004.
VIEILLARD, J.M.E. Areas of differentiation and
biogeographic affnities within the avifauna of
North-eastern Brazil. Acta XX Intern. Ornith.
Congress, Suppl., Christchurch, 1990.
WERNER, T.; PINTO, L.P.; DUTRA, G.F.; PEREI-
RA, P.G. Conserving the Southern Atlantics Ri-
chest Coastal Biodiversity into the Next Century.
Abrolhos, Coastal Managemet, 2000.
Nordeste
ANDRADE-LIMA, D. Present day forest refuges in
Northeastern Brazil pp. 245-254. In: G. T. Prance
(ed.). Nova York, Biological diversifcation in the
Tropics. Columbia University Press, 1982.
BROOKS, T.;RYLANDS, A. B. Species on the brink:
critically endangered terrestrial vertebrates. In: C.
Galindo-Leal; I. G. Cmara (eds.). The Atlantic
Forest of South America: Biodiversity Status,
Threats, and Outlook. Washington, CABS & Is-
land Press, 2003.
CAMPOS, GONZAGA DE. Mappa Florestal pelo Dr.
Gonzaga de Campos - 1912. So Paulo, Secretaria
do Estado do Meio Ambiente SP, 1987.
CAPOBIANCO, J. P. R. (org.). Dossi Mata Atlntica
- Projeto Monitoramento Participativo da Mata
Atlntica. So Paulo, Rede de ONGs da Mata
Atlntica, Instituto Socioambiental, Sociedade
Nordestina de Ecologia (RMA/ISA/SNE), 2001.
COIMBRA, A; CMARA, I. G. Os limites originais
da Mata Atlntica na regio Nordeste do Brasil.
Bibliografia(1).indd 319 2/23/06 10:30:54 PM
320
B
i
b
l
i
o
g
r
a
f
a
Rio de Janeiro, Fundao Brasileira para a Con-
servao da Natureza, 1996.
Conservation International do Brasil; Fundao SOS
Mata Atlntica; Fundao Biodiversitas; Instituto
de Pesquisas Ecolgicas; Secretaria do Meio Am-
biente do Estado de So Paulo. Avaliao e aes
prioritrias para a conservao da biodiversidade
da Mata Atlntica e Campos Sulinos. Braslia,
Ministrio do Meio Ambiente, 2000.
FERNANDES, A.; BEZERRA, P. Estudo ftogeogr-
fco do Brasil. Fortaleza, Stilus comunicaes,
1990.
Fundao SOS Mata Atlntica. Workshop Mata Atln-
tica, Anais. So Paulo, 1990.
Funadao SOS Mata Atlntica. Dossi Mata Atlntica
1992. So Paulo,1992.
Fundao SOS Mata Atlntica; Instituto de Pesquisas
Espaciais. Atlas da Evoluo dos Remanescentes
Florestais e Ecossistemas Associados do Domnio
da Mata Atlntica no perodo 1985-1990. So
Paulo, 1993.
GALINDO-LEAL, C.; CMARA, I. G. Atlantic forest
hotspots status: an overview. In: C. Galindo-Leal;
Cmara, I. G. (eds.). The Atlantic Forest of South
America: biodiversity status, threats, and outlook.
Washington, CABS & Island Press, 2003.
IBGE - Mapa de Vegetao do Brasil. Rio de Janeiro,
Diretoria de Geocincias, Instituto Brasileiro de
Geografa e Estatstica (IBGE), 2 Ed., 1993.
LIMA, M. L. C. A Reserva da Biosfera da Mata
Atlntica em Pernambuco. So Paulo, Conselho
Nacional da Reserva da Biosfera, 1998.
LINS, J.R.P.; MEDEIROS, A.N. Mapeamento da
cobertura forestal nativa lenhosa do Estado da
Paraba. Joo Pessoa, PNUD/FAO/Ibama/Gover-
no da Paraba, 1994.
MMA. Avaliao e Aes Prioritrias para a Con-
servao da Biodiversidade da Mata Atlntica e
Campos Sulinos. Braslia, 2000.
MYERS, N.; MITTERMEIER, R. A.; MITTER-
MEIER, C. G.; FONSECA, G. A. B.; KENT, J.
Biodiversity hotspots for conservation priorities.
Nature, 403, 2000.
SANDERSON, J.; ALGER, K.; FONSECA, G. A.
B., GALINDO-LEAL, C.; INCHAUSTY, V. H.;
MORRINSON, K. Biodiversity conservation cor-
ridors: planning, implementing, and monitoring
sustainable landscapes. Washington, CABS/Con-
servation International, 2003.
SILVA, J. M. C.; CASTELETI, C. H. M. Status of
the biodiversity of the Atlantic Forest of Brazil.
In: Galindo-Leal, C.; I. G., Cmara (eds.). The
Atlantic Forest of South America: biodiversity
status, threats, and outlook. Washington, CABS
& Island Press, 2003.
SILVA, J. M. C.; TABARELLI, M. Tree species im-
poverishment and the future fora of the Atlantic
forest of northeast Brazil. Nature 404, 2000.
SILVA, J. M. C.; COELHO, G.; GONZAGA, L. P. Dis-
covered on the brink of extinction: a new species of
Pygmy-Owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic
forest of northeast Brazil. Ararajuba 10, 2002.
SNE - Mapeamento da Mata Atlntica, seus Ecossiste-
mas Associados: Paraba e Rio Grande do Norte.
Relatrio Tcnico. Recife, SNE, 2002.
Sudene - Catlogo das Cartas Topogrfcas do Nor-
deste na Escala 1:100.000. Recife, 1990.
TABARELLI, M.; MAROMS, J. F.; SILVA, J. M. C.
La biodiversidad brasilea amenazada. Investi-
gacin y Cincia 308, 2002.
TABARELLI, M.; SILVA, J. M. C.; GASCON, C.
Forest fragmentation, synergisms and the impo-
verishment of neotropical forests. Biodiversity and
Conservation 13, 2004.
TONIOLO, E. R.; DANTAS, M. J. B. Mapeamento da
Cobertura Florestal Nativa Lenhosa do Estado do
Cear. Projeto PNUD/FAO/Ibama/BRA/87/007/
Governo do Cear. Documento de Campo n 27.
Fortaleza, 1994.
TONIOLO, E. R. Mapeamento da Mata Atlntica do
Cear. Relatrio Tcnico. Fortaleza, 2004.
WEGE, D. C.; LONG, A. Key areas for threatened
birds in the tropics. Cambridge, BirdLife Inter-
national, 1995.
Gois
Site da Agncia Ambiental de Gois: http://www.
agenciaambiental.go.gov.br/pq_mat_atlantica/
estudo_tec_I.php
Mato Grosso do Sul
BENINE, R.C.; CASTRO, R.M.C; SABINO, J. Mo-
enkhausia bonita: A New Small Characin Fish
from the Rio Paraguay Basin, Southwestern Brazil
(Characiformes: Characidae). Copeia (1), 2004.
Brasil, Ministrio de Minas e Energia, Secretria
Geral. Projeto Radambrasil 1982. Folha SE. 21
Corumb e parte Folha SE. 20; geologia, geomor-
Bibliografia(1).indd 320 2/23/06 10:30:55 PM
321
B
i
b
l
i
o
g
r
a
f
a
fologia, pedologia, vegetao e uso potencial da
terra. Rio de Janeiro, v.27.
BRAZ, V.S. A representatividade das unidades de con-
servao do cerrado na preservao da avifauna.
Dissertao apresentada ao Instituto de Biologia
necessrio para a obteno do ttulo de mestre em
Ecologia. Universidade de Braslia, 2003.
CARMIGNOTTO, A.P. Pequenos mamferos ter-
restres do bioma Cerrado: padres faunsticos
locais e regionais. Tese (Doutorado). Instituto
de Biocincias da Universidade de So Paulo.
Departamento de Zoologia, 2004.
IBGE/IBDF. Mapa de Vegetao do Brasil. Rio de
Janeiro, IBGE, 1988.
PEREIRA, A.M.M; SALZO, I. Submetido. Primeiro
registro de Harpia harpyja (Falconiformes, Acci-
pitridae) na Serra da Bodoquena (Mato Grosso
do Sul, Brasil). Ararajuba.
PIVATTO, M.A.C.; MANO, D.D.; STRAUBE,
F.C.; MILANO, M. Submetido. Birds, Bonito and
vicinities, state of Mato Grosso do Sul, central
Brazil. Checklist. URL: http://www.rc.unesp.
br/ib/checklist/index.htm
SABINO, J.; TRAJANO, E. Ancistrus formoso. Zoo-
logical Record Animal Names Database. Volume
134, 1997.
SOS Mata Atlntica e INPE. Atlas da Mata Atlnti-
ca, 2002. URL: http://www.sosmatatlantica.org.
br/?secao=atlas
Carcinicultura
BAILEY, C. The social consequences of tropical
shrimp mariculture development. Ocean & Sho-
reline Management, 11, 1998.
BNDES. A carcinicultura brasileira. Rio de Janeiro,
BNDES Setorial,19, 2004.
Brasil. Resoluo Conama 312, de 10 de outubro de
2002. Braslia, Dirio Ofcial [da] Repblica Fe-
derativa do Brasil, Poder Executivo, 18 outubro
de 2002.
CHANRATCHAKOOL, P. et al. Health management
in shrimp pouds. Bangokok, Kasertsat University,
1994.
Cholutecas Declaration. World Aquaculture. Cholu-
tecas, v. 27. n. 3, 1997.
CLAY, J. W. Toward sustainable shrimp aquaculture.
World Aquaculture, v. 28. n. 3, 1997.
COELHO, M. A.; PHILIPPI, L. S. Repovoamento
e educao ambiental: um caminho para a sus-
tentabilidade da Lagoa do Noca, Laguna (SC),
Brasil. In: I Conferncia Catarinense de Educao
Ambiental. Florianpolis, 1997.
Dirio de Natal. Camanor explica como reduzir o im-
pacto ao meio ambiente. Dirio de Natal. Agrone-
gcios. Natal, 6 de fevereiro de 2004. Disponvel
em: www.mercadodapesca.com.br. Acesso em: 7
de abril de 2005.
FOLKE, C.; KAUTSKY. The role of ecosystems for a
sustainable development of aquaculture. Ambio,
v. 18, n. 4, 1998.
GESTEIRA, T.C. et. al. Evoluo da indstria de
camaro marinho no Estado do Cear entre 1994
e 1998. Anais do Aquacultura Brasil, v. 98, n. 2,
1998.
Global Aquaculture Alliance. Coastal shrimp aquacul-
ture and mangrove forests, part 1: a background
report. Mangrove Working Group for the Global
Aquaculture Alliance, 1998.
Greenpeace. Coastal aquaculture in the context of the
CBD. Greenpeace International, 1995.
HOPKINS, S. Aquaculture sustainability: avoiding the
pitfalls of the green revolution. World Aquaculture,
v. 27, n. 2, 1996.
LANDERMAN, L. Negative impacts of coastal
aquaculture development. World Aquaculture, v.
25, n. 2, 1994.
LEAL, C. Boletim informativo da Mata Atlntica.
VIII Encontro Nacional da RMA. Paraba, Aspan,
Edio Especial, 12, 2003.
MACINTHOSH, D.; PHILLIPS, M. Environmental
issues in shrimp farming. In: Shrimp 92, Procee-
dings of the 3rd Global Conference on the Shrimp
Industry. Hong Kong, 1992.
MELLO, N. C. Carcinicultura: soluo ou problema.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2003. Dispo-
nvel em: <www2.uerj.br/~ambiente/emrevis-
ta/artigos/carcinicultura.htm>. Acesso em 28 de
maro de 2005.
MUEDAS, W.L.; VINATEA, L. A. Una critica al mo-
delo econmico de desarrollo de la carcinicultura
latinoamericana. Anais Aqicultura Brasil 98.
Recife, v. 2, 1998.
MURTHY, S. The collapse of shrimp farming in India:
an analysis. Infofsh international, v. 1/97, 1997.
PAEZ-OZUNA, F. et al. Shrimp aquaculture develop-
ment and the environment in the Gulf of California
ecoregion. Marine Pollution Bulletin, Elsevier,
46, 2003.
Bibliografia(1).indd 321 2/23/06 10:30:56 PM
322
B
i
b
l
i
o
g
r
a
f
a
PHILLIPS, M.; KWEI-LIN, C.; BEVERIDGE, M.
Shrimp culture and the environment: lessons from
the worlds most rapidly expounding warmwater
aquaculture sector. In: Pullin, R.; Rosenthal, H.;
Maclean, J. (ed.). Environment and aquaculture in
developing countries. Manila: ICLARM, 1993.
PRIMAVERA, H. Environmental and socioeconomic
effects of shrimp farming: the philippine experien-
ce. Infofsh international, 194, 1994.
PRIMAVERA, J. H. Tropical shrimp farming and its
sustainability. In: de Silva, S. (ed) Tropical Mari-
culture. London, Academic Press, 1998.
QUESADA, J. E. et al . Aqicultura sustentvel:
construindo um conceito. Anais do Aquicultura
Brasil 98. Recife, v. 2, 1998.
ROCHA, I. P. Interesses contrariados esto motivando
a campanha contra o crescimento do camaro
cultivado no Brasil. Revista da ABCC. Ano 4 (1),
16, 2002.
TISDELL, C. Environmental economics: policies for
environmental management and sustainable deve-
lopment. Aldershot, England: Edward Elgard. In:
Sustainable aquaculture 95. Pacifc Congress on
marine science and technology. Honolulu, 1993.
TROTT, L. A.; ALONGI, D. M. The impact of shrimp
pond effuent on water quality and phytoplankton
biomass in a tropical mangrove estuary. Marine
Pollution Bulletin. Elsevier, v. 40, n.11, 2000.
VIEIRA-FILHO, J. A. F. O desenvolvimento da carci-
nicultura nacional e a questo do meio ambiente:
uma viso prtica. Revista da ABCC, Ano 4 (1),
2002.
VINATEA, L. Aqicultura e desenvolvimento susten-
tvel: subsdios para a formulao de polticas
de desenvolvimento da aqicultura brasileira.
Florianpolis, UFSC, 1998.
WAINBERG, A. A.; CMARA, M. R. Carcinicultu-
ra no litoral do Estado do Rio Grande do Norte,
Brasil: interaes ambientais e alternativas miti-
gadoras. Recife, Anais da Aqicultura Brasil 98,
v. 2, 1998.
WAINBERG, A. A.; CMARA, M. R. Brazilian
shrimp farming, but is it sustainable? World
Aquaculture, v. 29. n. 1, 1998.
Legislao
LIMA, ANDR. Aspectos Jurdicos da Proteo da
Mata Atlntica. Srie Documentos ISA. So Paulo,
Instituto Socioambiental, 2001.
Sobreposies entre
unidades de conservao e
populaes tradicionais
Centro de Trabalho Indigenista. Terras Guarani no
Litoral As matas que foram reveladas aos nossos
antigos avs. So Paulo, CTI, 2004.
RICARDO, F. (org.). Terras Indgenas & Unidades
de Conservao da natureza o desafo das so-
breposies. So Paulo, Instituto Socioambiental,
2004.
Bibliografia(1).indd 322 2/23/06 10:30:56 PM
Bibliografia(1).indd 323 2/23/06 10:31:03 PM
Bibliografia(1).indd 324 2/23/06 10:31:08 PM
Salto do Yucum no Rio Uruguai.
Divisa do Brasil (RS) com a Argentina
Bibliografia(1).indd 325 2/23/06 10:31:14 PM
Bibliografia(1).indd 326 2/23/06 10:31:21 PM
Jequitib rosa
Maior rvore viva da
Mata Atlntica
Parque Estadual de
Vassununga SP
Bibliografia(1).indd 327 2/23/06 10:31:27 PM
Bibliografia(1).indd 328 2/23/06 10:31:33 PM
Bibliografia(1).indd 329 2/23/06 10:31:39 PM
Bibliografia(1).indd 330 2/23/06 10:31:45 PM
Bibliografia(1).indd 331 2/23/06 10:31:51 PM
Foto: Marcos S Corra
Bibliografia(1).indd 332 2/23/06 10:31:55 PM
Mata
Rede Mata Atlntica - RMA
SCLN 210 Bloco C Salas 207 e 208
CEP 70862-530 Braslia DF
M
a
t
a
A
t
l
n
t
i
c
a
U
m
a
r
e
d
e
p
e
l
a
o
r
e
s
t
a
Fundao Biblioteca Nacional
Atlntica
Uma rede pela oresta
Você também pode gostar
- Python - Escreva Seus Primeiros Programas (PDFDrive)Documento258 páginasPython - Escreva Seus Primeiros Programas (PDFDrive)Allan EP100% (3)
- Guia Prático Para a Reprodução de Plantas: Do Tradicional à BiotecnologiaNo EverandGuia Prático Para a Reprodução de Plantas: Do Tradicional à BiotecnologiaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- 125 árvores para conhecer no campus da UFSCar em Araras-SPNo Everand125 árvores para conhecer no campus da UFSCar em Araras-SPAinda não há avaliações
- ÁrvoresDocumento134 páginasÁrvoresValentina Leonova100% (3)
- Compêndio de Adubação e Nutrição de Hortaliças pelo Método Japonês Baseado na Extração pela Cultura e Análise do SoloNo EverandCompêndio de Adubação e Nutrição de Hortaliças pelo Método Japonês Baseado na Extração pela Cultura e Análise do SoloAinda não há avaliações
- Cultivo de BromeliaceaeDocumento20 páginasCultivo de Bromeliaceaejcantarelli100% (1)
- Plantas Da Mata Atlântica - EbookDocumento162 páginasPlantas Da Mata Atlântica - EbookKarinne Valdemarin100% (1)
- Estudos Ambientais e Agroecológicos em Propriedades RuraisNo EverandEstudos Ambientais e Agroecológicos em Propriedades RuraisAinda não há avaliações
- Sistema AgroflorestalDocumento33 páginasSistema AgroflorestalAna Julia MirandaAinda não há avaliações
- Jardim Botanico de Porto AlegreDocumento102 páginasJardim Botanico de Porto AlegreLuiz L. Marins100% (1)
- Sistemas Conservacionistas de Recuperação de Pastagem DegradadaNo EverandSistemas Conservacionistas de Recuperação de Pastagem DegradadaAinda não há avaliações
- Serpentes Brasileiras Peçonhentas ButantanDocumento7 páginasSerpentes Brasileiras Peçonhentas ButantanCarlos Roberto Danker100% (19)
- Fitoprotetores Botânicos: União de Saberes e Tecnologias para Transição AgroecológicaNo EverandFitoprotetores Botânicos: União de Saberes e Tecnologias para Transição AgroecológicaAinda não há avaliações
- Guia de Campo de Árvores Da CaatingaDocumento16 páginasGuia de Campo de Árvores Da Caatingaivanknow50% (6)
- Recuperacao Ambiental Da Mata Atlantica NovaDocumento184 páginasRecuperacao Ambiental Da Mata Atlantica NovaJoão Moura100% (1)
- Cerrado - Ecologia, Biodiversidade e ConservaçãoDocumento428 páginasCerrado - Ecologia, Biodiversidade e Conservaçãosaimorebllethsouza100% (1)
- Guia Ficus Mata AtlânticaDocumento4 páginasGuia Ficus Mata AtlânticaNina Arboitte WittAinda não há avaliações
- Nossas Arvores PDFDocumento289 páginasNossas Arvores PDFVerbena Córdula Almeida100% (4)
- Ecologia de riachos de montanha da Mata AtlânticaNo EverandEcologia de riachos de montanha da Mata AtlânticaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Biodiversidade Do Cerrado e PantanalDocumento398 páginasBiodiversidade Do Cerrado e PantanalmsantoslopesAinda não há avaliações
- Guia de Plantas (Caatinga)Documento99 páginasGuia de Plantas (Caatinga)Aiara Ponce de Leon100% (1)
- Guia de rastros de mamíferos neotropicais de médio e grande porteNo EverandGuia de rastros de mamíferos neotropicais de médio e grande porteAinda não há avaliações
- Espécies Invasoras Do Nordeste Do BrasilDocumento101 páginasEspécies Invasoras Do Nordeste Do BrasilRafael Ribeiro100% (1)
- Educação, meio ambiente e saúde: Escritos científicos do extremo sul do Piauí – Volume 2No EverandEducação, meio ambiente e saúde: Escritos científicos do extremo sul do Piauí – Volume 2Ainda não há avaliações
- Mata AtlânticaDocumento410 páginasMata AtlânticaEduardo Crevelário de Carvalho100% (1)
- Avaliação Da Fertilidade Do Solo Raij PDFDocumento153 páginasAvaliação Da Fertilidade Do Solo Raij PDFUidemar Morais Barral100% (1)
- Aves Do Litoral NorteDocumento661 páginasAves Do Litoral NorteChirimbodAinda não há avaliações
- Guia Restauração Com SAFs Final ICRAF 2016Documento266 páginasGuia Restauração Com SAFs Final ICRAF 2016Breno M. FonsecaAinda não há avaliações
- Direito do Turismo nos Territórios dos Povos Indígenas: por um desenvolvimento ecoculturalmente adequadoNo EverandDireito do Turismo nos Territórios dos Povos Indígenas: por um desenvolvimento ecoculturalmente adequadoAinda não há avaliações
- Unidades de ConservacaoDocumento344 páginasUnidades de Conservacaotata83Ainda não há avaliações
- Propriedade Rural Na Mata AtlânticaDocumento31 páginasPropriedade Rural Na Mata AtlânticaElisabeth FontanellaAinda não há avaliações
- Caatinga Flora Do CearáDocumento16 páginasCaatinga Flora Do CearáWilliam SousaAinda não há avaliações
- Glossário De Meio AmbienteNo EverandGlossário De Meio AmbienteAinda não há avaliações
- Vulnerabilidade Ambiental - Livro MMADocumento196 páginasVulnerabilidade Ambiental - Livro MMABruno Henrique Fernandes100% (1)
- Árvores Frutíferas Do CerradoDocumento19 páginasÁrvores Frutíferas Do CerradoRosanaJoya100% (1)
- Da Terra que Assegura a Vida aos Alimentos Sem AgrotóxicosNo EverandDa Terra que Assegura a Vida aos Alimentos Sem AgrotóxicosAinda não há avaliações
- Turfeiras da Serra do Espinhaço Meridional: Serviços Ecossistêmicos Interações Bióticas e PaleoambientesNo EverandTurfeiras da Serra do Espinhaço Meridional: Serviços Ecossistêmicos Interações Bióticas e PaleoambientesAinda não há avaliações
- Estudos Antrópicos na Amazônia: Entre Textos e Contextos Interdisciplinares;: Coletânea Interdisciplinar (Volume 1)No EverandEstudos Antrópicos na Amazônia: Entre Textos e Contextos Interdisciplinares;: Coletânea Interdisciplinar (Volume 1)Ainda não há avaliações
- Livro 203 PDFDocumento99 páginasLivro 203 PDFGarrett Mcmahon100% (3)
- E-Book: Agricultura Orgânica - Tecnologia para Produção de Alimentos Saudáveis Volume IIIDocumento373 páginasE-Book: Agricultura Orgânica - Tecnologia para Produção de Alimentos Saudáveis Volume IIIFabio Morais100% (1)
- O DNA do brasileiro: Como a genética influencia o nosso comportamento e ajuda a contar a nossa históriaNo EverandO DNA do brasileiro: Como a genética influencia o nosso comportamento e ajuda a contar a nossa históriaAinda não há avaliações
- Desafios Do Sistema de Segurança Pública No BrasilDocumento70 páginasDesafios Do Sistema de Segurança Pública No BrasilIandra MarquesAinda não há avaliações
- Produtos Florestais não Madeireiros: As Comunidades e a Sustentabilidade do DesenvolvimentoNo EverandProdutos Florestais não Madeireiros: As Comunidades e a Sustentabilidade do DesenvolvimentoAinda não há avaliações
- Reflorestamento ciliar em diferentes modelos de plantioNo EverandReflorestamento ciliar em diferentes modelos de plantioAinda não há avaliações
- A Relação Homem-Natureza Nas Comunidades Tradicionais da Ilha de Guriri-ES: Subsídios à Educação AmbientalNo EverandA Relação Homem-Natureza Nas Comunidades Tradicionais da Ilha de Guriri-ES: Subsídios à Educação AmbientalAinda não há avaliações
- Áreas Naturais Protegidas e Indicadores Socioeconômicos: O Desafio da Conservação da NaturezaNo EverandÁreas Naturais Protegidas e Indicadores Socioeconômicos: O Desafio da Conservação da NaturezaAinda não há avaliações
- Flores Da CaatingaDocumento59 páginasFlores Da Caatingat3l3sAinda não há avaliações
- Etnobotânica no cerrado: Um estudo no assentamento santa rita, Jataí-GONo EverandEtnobotânica no cerrado: Um estudo no assentamento santa rita, Jataí-GOAinda não há avaliações
- 2005 Scariot Et Al - Cerrado Ecologia Biodiversidade e Conservacao PDFDocumento26 páginas2005 Scariot Et Al - Cerrado Ecologia Biodiversidade e Conservacao PDFDaniele Cristina de SouzaAinda não há avaliações
- Preservação e Conservação Da Caatinga EmbrapaDocumento42 páginasPreservação e Conservação Da Caatinga EmbrapasandraraniereAinda não há avaliações
- AGROECOLOGIA Praticas Mercados e PoliticasDocumento394 páginasAGROECOLOGIA Praticas Mercados e PoliticasAllan EP100% (1)
- Avaliação de Viabilidade Ambiental, Técnica e Econômica Da Atividade de Extração de AreiaDocumento6 páginasAvaliação de Viabilidade Ambiental, Técnica e Econômica Da Atividade de Extração de AreiaAllan EPAinda não há avaliações
- O Corredor Central Da Mata Atlântica: Uma Nova Escala Deconservação Da BiodiversidadeDocumento52 páginasO Corredor Central Da Mata Atlântica: Uma Nova Escala Deconservação Da BiodiversidadeA. SilvaAinda não há avaliações
- Reflexões sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural: Volume IINo EverandReflexões sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural: Volume IIAinda não há avaliações
- Argumentos - Tipos deDocumento24 páginasArgumentos - Tipos dePATRICIA APARECIDA FRANCOAinda não há avaliações
- CAPELATO, Maria Helena. O Gigante Brasileiro Na América Latina Ser Ou Não Ser Latino-Americano GRIFADODocumento32 páginasCAPELATO, Maria Helena. O Gigante Brasileiro Na América Latina Ser Ou Não Ser Latino-Americano GRIFADOKéssia Araujo100% (1)
- SerpentesDocumento7 páginasSerpentessenhor da galaxiaAinda não há avaliações
- Morato Etal 2018 Herpetofauna FLONA Sarac Taquera Amaznia CentralDocumento225 páginasMorato Etal 2018 Herpetofauna FLONA Sarac Taquera Amaznia CentralNasjdaAinda não há avaliações
- Manual de Sementes Da Amazônia - GuariúbaDocumento12 páginasManual de Sementes Da Amazônia - GuariúbaArthur Jorge Da Silva FreitasAinda não há avaliações
- Métodos de Amostragem de Vertebrados AnuraDocumento56 páginasMétodos de Amostragem de Vertebrados Anuramostracefs100% (2)
- Medidas de Diversidade BiológicaDocumento13 páginasMedidas de Diversidade BiológicaAllan EPAinda não há avaliações
- Guia Metodologico Projetos ReddDocumento36 páginasGuia Metodologico Projetos ReddAllan EPAinda não há avaliações
- Economia Do Meio AmbienteDocumento10 páginasEconomia Do Meio AmbienteAdrianoratoAinda não há avaliações
- Unidades de Conservacao - MMADocumento23 páginasUnidades de Conservacao - MMAcarmen52Ainda não há avaliações
- Lapidando A Pedra Bruta - Junior - 05-10-2020Documento13 páginasLapidando A Pedra Bruta - Junior - 05-10-2020Ossival Lolato RibeiroAinda não há avaliações
- Escola Boa SementeDocumento6 páginasEscola Boa Sementeivabh10Ainda não há avaliações
- Edital Proac Cult. TradicionaisDocumento30 páginasEdital Proac Cult. TradicionaisKakáSilvaAinda não há avaliações
- Milton SantosDocumento4 páginasMilton SantosHenrique Alves ZampieriAinda não há avaliações
- Carro Movido A Energia SolarDocumento20 páginasCarro Movido A Energia SolarJean RodriguesAinda não há avaliações
- PontuaçãoDocumento63 páginasPontuaçãoMateus Ornellas FerrariAinda não há avaliações
- Ano XVI - Edição 1390Documento29 páginasAno XVI - Edição 1390Heloisa CardosoAinda não há avaliações
- Galvão, Walnice Nogueira. Euclides Da Cunha - PrecursorDocumento8 páginasGalvão, Walnice Nogueira. Euclides Da Cunha - PrecursorElvis CoutoAinda não há avaliações
- 1er Torneo Regional Pinheiros 2018Documento20 páginas1er Torneo Regional Pinheiros 2018Alvaro Covarrubias BascuñateAinda não há avaliações
- GeografiaDocumento16 páginasGeografiaAdão Marcos GracianoAinda não há avaliações
- Portaria 118-2018 Comitê Setorial de Inventário de Bens e de EstoquesDocumento1 páginaPortaria 118-2018 Comitê Setorial de Inventário de Bens e de EstoquesAnny MedeirosAinda não há avaliações
- INEA - Bacia Hidrográfica Dos Rios Guandu, Da Guarda e Guandu MirimDocumento339 páginasINEA - Bacia Hidrográfica Dos Rios Guandu, Da Guarda e Guandu MirimRenanRamosChavesAinda não há avaliações
- TAKUÁ, Cristine - Reflexões de Luta e ResistênciasDocumento7 páginasTAKUÁ, Cristine - Reflexões de Luta e ResistênciasJanaina Alexandra Capistrano da CostaAinda não há avaliações
- Aglomeraçoes Industriais Relevantes No BrasilDocumento33 páginasAglomeraçoes Industriais Relevantes No BrasilEugenio TuortoAinda não há avaliações
- 1º Simulado Esa PDFDocumento18 páginas1º Simulado Esa PDFMatheus RibeiroAinda não há avaliações
- Tabela Sul America Hospitalar Pme Novembro - 2008Documento5 páginasTabela Sul America Hospitalar Pme Novembro - 2008carlosrottaAinda não há avaliações
- 30 Tatuadores Brasileiros Que Sao Verdadeiros ArtistasDocumento29 páginas30 Tatuadores Brasileiros Que Sao Verdadeiros ArtistasBlog TattoolandiaAinda não há avaliações
- Tânia Bacelar e Hipólia SiqueiraDocumento6 páginasTânia Bacelar e Hipólia SiqueiraCláudia ZaniboniAinda não há avaliações
- EA - Ambientalização Ambiemte Escolar - Julia - Teixeira - Machado - Versao - RevisadaDocumento245 páginasEA - Ambientalização Ambiemte Escolar - Julia - Teixeira - Machado - Versao - RevisadaAlessandra Buonavoglia Costa-PintoAinda não há avaliações
- DISSERTAÇÃO - Bruno Vital Righetto RamosDocumento103 páginasDISSERTAÇÃO - Bruno Vital Righetto Ramosalline.valleAinda não há avaliações
- Os Reflexos de Uma Sociedade Competitiva e Globalizada Na Utilização de Espaços Urbanos Públicos e PrivadosDocumento36 páginasOs Reflexos de Uma Sociedade Competitiva e Globalizada Na Utilização de Espaços Urbanos Públicos e PrivadosManoel Ochoa100% (1)
- Causa Das Dificuldades de Acesso No Porto de SantosDocumento13 páginasCausa Das Dificuldades de Acesso No Porto de SantosEdu TadeuAinda não há avaliações
- Alta PaulistaDocumento435 páginasAlta PaulistaLarissa Bianchi100% (1)
- IPUF - Patrimônio Histórico e Cultural de Natureza Material (2008, Guia)Documento23 páginasIPUF - Patrimônio Histórico e Cultural de Natureza Material (2008, Guia)Roger KriegerAinda não há avaliações
- Relatório Como Ouvirão 2018Documento140 páginasRelatório Como Ouvirão 2018Valéria Sanches100% (1)
- Influencia - Andre MalbegierDocumento10 páginasInfluencia - Andre Malbegierantonio franco ferreiraAinda não há avaliações
- A Importancia Do Projeto Luminotecnico 1671437Documento13 páginasA Importancia Do Projeto Luminotecnico 1671437milpaulaAinda não há avaliações