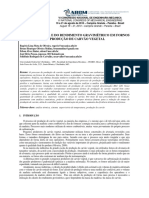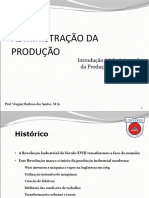Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Analise de Risco Serra Circular
Analise de Risco Serra Circular
Enviado por
Camila Lucas0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
21 visualizações103 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
21 visualizações103 páginasAnalise de Risco Serra Circular
Analise de Risco Serra Circular
Enviado por
Camila LucasDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 103
UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE
CURSO DE ENGENHARIA DE SEGURANA DO TRABALHO
ANLISE DE RISCOS NAS ATIVIDADES DE EXECUO DE
FORMAS NA OPERAO COM SERRA CIRCULAR
DEISE DELFINO NUNES
ROSILDA MARIA DE SOUZA
CRICIMA, ABRIL 2007
1
DEISE DELFINO NUNES
ROSILDA MARIA DE SOUZA
ANLISE DE RISCOS NAS ATIVIDADES DE EXECUO DE
FORMAS NA OPERAO COM SERRA CIRCULAR
Monografia apresentada como requisito final
obteno do ttulo de Especialista em Engenharia de
Segurana do Trabalho, Universidade do Extremo
Sul Catarinense, Curso de Ps-Graduao (lato
sensu) em Engenharia de Segurana do Trabalho.
Orientadora: Prof. Vera Lcia Duarte do Valle Pereira, Dra.
Co-Orientadora: Prof. Simone T. F. Lopes da Costa, M.Sc.
CRICIMA, ABRIL 2007
2
TERMO DE APROVAO
DEISE DELFINO NUNES
ROSILDA MARIA DE SOUZA
ANLISE DE RISCOS NAS ATIVIDADES DE EXECUO DE FORMAS NA
OPERAO COM SERRA CIRCULAR
Monografia apresentada como requisito final obteno do ttulo de Especialista
em Engenharia de Segurana do Trabalho, Universidade do Extremo Sul Catarinense.
__________________________________
Prof. Vera Lcia D. do Valle Pereira, Dra.
Coordenadora do Curso
Banca Examinadora:
__________________________________
Prof. Vera Lcia D. do Valle Pereira, Dra.
Orientadora
__________________________________
Prof. Simone T. F. Lopes da Costa, M.Sc.
Co-Orientadora
_______________________________________
Prof. Marcelo Fontanella Webster, M.Sc.
CRICIMA, ABRIL 2007
3
SUMRIO
LISTA DE TABELAS.......................................................................................................... 6
LISTA DE FIGURAS .......................................................................................................... 7
LISTA DE SIGLAS..............................................................................................................8
RESUMO..............................................................................................................................9
ABSTRACT........................................................................................................................ 10
CAPTULO I...................................................................................................................... 11
1 INTRODUO............................................................................................................... 11
1.1 Problemtica............................................................................................................. 12
1.2 Objetivos ................................................................................................................... 12
1.2.1 Objetivo Geral .................................................................................................... 12
1.2.2 Objetivo Especfico............................................................................................. 12
1.3 Justificativa............................................................................................................... 13
1.4 Metodologia .............................................................................................................. 14
1.4.1 Base Filosfica ................................................................................................... 14
1.4.2 Mtodo de Pesquisa ............................................................................................ 14
1.4.3 Caracterizao da Pesquisa ................................................................................. 15
1.4.3.1 Natureza da Pesquisa............................................................................ 15
1.4.3.2 Carter da Pesquisa............................................................................... 15
1.4.3.3 Profundidade da Pesquisa ..................................................................... 16
1.4.3.4 Tcnicas da Pesquisa ............................................................................ 16
1.5 Relevncia Engenharia de Segurana do Trabalho ............................................. 17
1.6 Limitaes ................................................................................................................. 17
1.7 Estrutura do Trabalho ............................................................................................. 17
CAPTULO II .................................................................................................................... 19
2 CONSTRUO CIVIL.................................................................................................. 19
2.1 Caracterstica do setor.............................................................................................. 19
2.1.1 Desenvolvimento tecnolgico da construo civil no Brasil ................................ 21
2.2 Normatizao tcnica e certificao de conformidade ............................................ 23
2.3 Segurana na construo civil .................................................................................. 24
2.3.1 Conceitos bsicos................................................................................................ 26
2.3.1.1 Acidente e Quase-acidentes .................................................................. 26
2.3.1.2 Condies inseguras e atos inseguros.................................................... 26
2.3.1.3 Perigo e risco........................................................................................ 27
2.3.2 Normatizao em Segurana e Sade na Indstria da Construo........................ 29
2.3.2.1 Norma Regulamentadora N
o
4 (SESMT) .............................................. 30
2.3.2.2 Norma Regulamentadora N
o
5 (CIPA) .................................................. 31
2.3.2.3 Norma Regulamentadora N
o
7 (PCMSO)............................................... 31
2.3.2.4 Norma Regulamentadora N
o
9 (PPRA) ................................................. 32
2.3.2.5 Norma Regulamentadora N
o
18 (PCMAT) ........................................... 32
2.3.3 Estatstica do setor da Construo Civil para o estado de Santa Catarina ............. 33
2.3.4 Por que investir em segurana (custos e responsabilidade social)?....................... 38
2.3.5 Aes em segurana e sade no trabalho na indstria da construo civil ............ 39
2.4 Sistema de Formas.................................................................................................... 41
2.4.1 Definies........................................................................................................... 41
2.4.2 Caractersticas..................................................................................................... 42
2.4.3 Classificao dos sistemas de formas para concreto ............................................ 43
2.4.3.1 Formas para elementos verticais ........................................................... 43
2.4.3.2 Formas para elementos horizontais ....................................................... 46
4
2.4.4 Execuo de formas na operao com serra circular............................................ 47
2.4.4.1 Descrio do Processo de Execuo de Formas .................................... 47
2.4.4.2 Procedimento de segurana a ser realizado ........................................... 48
2.4.4.3 Preparao do Material ......................................................................... 49
2.4.4.4 Elaborao das Formas ......................................................................... 49
2.4.4.5 Remoo das Formas............................................................................ 49
2.4.4.6 Retiradas de Escoras............................................................................. 50
2.4.5 Analise dos Riscos dos Servios de Execuo de Formas com Serra Circular...... 50
2.4.6 Riscos na operao da Serra Circular .................................................................. 50
2.4.7 Causas dos riscos na operao da Serra Circular ................................................. 51
2.4.8 Medidas Preventivas ........................................................................................... 51
2.5 Anlise de Riscos....................................................................................................... 52
2.5.1 Principais tcnicas de anlise de riscos................................................................ 52
2.5.1.1 Objetivos das Tcnicas de Anlise de Riscos ........................................ 53
2.5.1.2 Aplicao das tcnicas de anlise de riscos ........................................... 54
2.5.2 Tcnicas de identificao de perigos ................................................................... 54
2.5.2.1 What-if................................................................................................. 54
2.5.2.2 Check-list ............................................................................................. 55
2.5.3 Tcnicas de Anlise de Riscos ............................................................................ 55
2.5.3.1 Anlise Preliminar de Riscos (APR) - Preliminary Hazard Analysis
(PHA) Tambm chamada de Anlise Preliminar de Perigos (APP). .................. 55
2.5.3.2 Anlise de Operabilidade de Perigos - Hazard and Operability Studies
(HAZOP) ......................................................................................................... 57
2.5.3.3 Anlise de Modos de Falha e Efeitos (AMFE) - Failure Modes and
Effects Analysis (FMEA)................................................................................. 59
2.5.4 Tcnicas Avaliao de Riscos ............................................................................. 62
2.5.4.1 Anlise de rvore de Falhas (AAF) - Fault Tree Analysis (FTA) ......... 62
CAPTULO III................................................................................................................... 69
3 ESTUDO DE CASO........................................................................................................ 69
3.1 Estudo de Caso.......................................................................................................... 69
3.2 Histrico da Empresa............................................................................................... 71
3.3 Procedimentos Metodolgicos.................................................................................. 71
3.4 Fluxograma de Execuo de Formas ....................................................................... 72
3.5 Mtodo ...................................................................................................................... 73
3.5.1 Metodologia de implantao das Tcnicas APR e AMFE.................................... 73
3.6 Serra circular na execuo de formas...................................................................... 74
3.7 Identificao de riscos na serra circular a serem observados in loco..................... 74
3.7.1 Retrocesso da madeira ........................................................................................ 74
3.7.2 Dentes ou videas quebrados ou trincados ......................................................... 75
3.7.3 Desequilbrio da Madeira decorrente da prpria operao da serra ................... 75
3.7.4 Contato acidental das mos com os dentes da Serra, caso no possua coifa
protetora .......................................................................................................... 76
3.7.5 Contato acidental com o disco da serra, no final da operao de serragem, caso
no possua coifa protetora e empurrador .......................................................... 76
3.7.6 Contato com o disco da serra na parte inferior (abaixo) da bancada, falta de
proteo nas laterais ......................................................................................... 77
3.7.7 Falta de organizao no canteiro de obras ........................................................... 78
3.7.8 Coletor de serragem e suportes de apoio.............................................................. 78
3.8 Etapas para aplicao da APR................................................................................. 79
5
3.9 Aplicao da APR..................................................................................................... 80
3.10 Etapas para Aplicao da AMFE........................................................................... 81
3.11 Aplicao da AMFE ............................................................................................... 81
3.11.1 Abordagem sistmica........................................................................................ 82
3.11.2 Componentes da serra circular .......................................................................... 83
CAPTULO IV................................................................................................................... 86
4 Resultados obtidos........................................................................................................... 86
4.1 Anlise Preliminar de Riscos (APR) ........................................................................ 86
4.2 Anlise de Modos de Falhas e Efeitos (AMFE) ....................................................... 90
CAPTULO V..................................................................................................................... 94
5 Concluses e Recomendaes para futuros trabalhos ................................................... 94
5.1 Concluses................................................................................................................. 94
5.2 A Importncia da Engenharia de Segurana do Trabalho..................................... 96
5.3 Recomendaes para Futuros Trabalhos ................................................................ 97
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS .............................................................................. 98
6
LISTA DE TABELAS
Tabela 1 Indicadores de Acidente do Trabalho para o ano 2002............ .................................34
Tabela 2 Indicadores de Acidente do Trabalho para o ano 2003..............................................35
Tabela 3 Indicadores de Acidente do Trabalho para o ano 2004..............................................36
Tabela 4 Indicadores de Acidente do Trabalho para o ano 2002 Edificaes diversas.........37
Tabela 5 Indicadores de Acidente do Trabalho para o ano 2003 Edificaes diversas.........37
Tabela 6 Indicadores de Acidente do Trabalho para o ano 2004 Edificaes diversas.........37
Tabela 7 - Modelo de ficha para Anlise Preliminar de Riscos................................................56
Tabela 8 - Categoria de severidade dos cenrios utilizados em APR.......................................57
Tabela 9 - Palavras-guia do estudo HAZOP e respectivos desvios..........................................58
Tabela 10 - Modelo de relatrio para um estudo HAZOP........................................................59
Tabela 11 - Modelo de Aplicao de uma AMFE....................................................................60
Tabela 12 - Modelo de formulrio para AMFE........................................................................62
Tabela 13 - lgebra booleana e simbologia usada na rvore de falhas....................................66
Tabela 14 - Relacionamento e leis representativas da lgebra de Boole................................67
Tabela 15 Categoria de severidade dos cenrios utilizados em APR (adaptada)..................79
Tabela 16 Grupo de Trabalho................................................................................................80
Tabela 17 - Formulrio para AMFE.........................................................................................81
Tabela 18: Anlise preliminar de risco do subsistema empilhamento de madeira...................87
Tabela 19: Anlise preliminar de risco do subsistema madeira isenta de pregos.....................87
Tabela 20: Anlise preliminar de risco do subsistema transporte da madeira a serra.............. 88
Tabela 21: Anlise preliminar de risco do subsistema colocao da madeira........................ 88
Tabela 22: Anlise preliminar de risco do subsistema organizao do canteiro.......................89
Tabela 23 Anlise preliminar de risco do subsistema organizao do canteiro........................89
Tabela 24: Anlise preliminar de risco do subsistema organizao do canteiro.......................90
Tabela 25: Anlise de modos de falha e efeitos do disco.........................................................91
Tabela 26: Anlise de modos de falha e efeitos da coifa protetora...........................................91
Tabela 27: Anlise de modos de falha e efeitos do cutelo divisor............................................92
Tabela 28: Anlise de modos de falha e efeitos dos empurradores..........................................92
Tabela 29: Anlise de modos de falha e efeitos da chave liga/desliga.....................................93
Tabela 30: Anlise de modos de falha e efeitos do aterramento...............................................93
7
LISTA DE FIGURAS
Figura 1 - Estrutura fundamental de uma AMFE.....................................................................63
Figura 2 - Simbologia lgica de uma rvore de falha...............................................................65
Figura 3 - Esquema de uma rvore de falhas............................................................................68
Figura 4 - Quadro de reas do Residencial Jardim di banos...................................................70
Figura 5 - Fluxograma do processo de Execuo de Formas....................................................72
Figura 6 - Etapa para implantao APR e AMFE.....................................................................73
Figura 7 - Tbua de pinus com ns e rachaduras......................................................................74
Figura 8 - Serra com dentes ou videas quebrados ou trincados................................................75
Figura 9 - Desequilbrio da madeira.........................................................................................75
Figura 10 - Contato acidental das mos com os dentes da Serra .............................................76
Figura 11-Contato acidental com o disco da serra caso no possua coifa protetora ou
empurrador................................................................................................................................77
Figura 12 - Contato com o disco da serra na parte inferior da bancada sem proteo nas
laterais.......................................................................................................................................77
Figura 13 - Falta de organizao e limpeza no canteiro de obras .....................................................78
Figura 14 - Coletor de serragem e suportes de apoio................................................................79
Figura 15 - Processo da Serra circular..................................................................................... 83
Figura 16 - Disco da serra circular............................................................................................83
Figura 17 - Coifa protetora........................................................................................................84
Figura 18 - Cutelo divisor ou Lmina reparadora.....................................................................84
Figura 19 Empurradores.........................................................................................................85
8
LISTA DE SIGLAS
AAF - Anlise de rvores de Falhas
ABNT - Associao Brasileira de Normas Tcnicas
AIDS - - Acquirite Imuno-Deficience Syndrom (Sndrome de Imunodeficincia Adquirida-
SIDA)
AMFE - Anlise dos Modos de Falhas e Efeitos
APP - Anlise Preliminar de Perigos
APR - Anlise Preliminar de Riscos
Check List - Lista de Verificaes
CIPA - Comisso Interna de Preveno de Acidentes
CLT - Consolidao das Leis do Trabalho
CNAE - Classificao Nacional de Atividades Econmicas
CONMETRO - Conselho Nacional de Metrologia, Normalizao e Qualidade Industrial
DRT - Delegacia Regional do Trabalho
DSST - Departamento de Sade e Segurana do Trabalho
EPC - Equipamento de proteo coletiva
EPI - Equipamento de proteo individual
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servio--
FMEA - Failure Modes and Effects Analysis
FMECA - Failure Modes and Criticality Analysis
FTA - Fault Tree Analysis
FUNDACENTRO - Fundao Jorge Duprat Figueiredo de Segurana e Medicina do Trabalho
HAZOP- Hazard and Operability Studies
INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalizao e Qualidade Industrial
ITQC - Instituto de Tecnologia da Qualidade na Construo
NB - Norma Brasileira
NR - Norma Regulamentadora
MET - Ministrios do Trabalho e Emprego
OIT - Organizao Internacional do Trabalho
OMC - Organizao Mundial do Comrcio
PBQPH - Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat
PCMAT - Programa de Condies e Meio Ambiente na Indstria da Construo Civil
PCMSO - Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional
PHA - Preliminary Hazard Analysis
PIB - Produto Interno Bruto PIB
PNRAFT - Programa Nacional de Reduo de Acidentes Fatais do Trabalho
PPA - Plano Plurianual
PPRA - Programa de Preveno de Riscos Ambientais
SESMT - Servios Especializados em Engenharia de Segurana e em Medicina do Trabalho
SINMETRO - Sistema Nacional de Metrologia, Normatizao e Qualidade Industrial
SIPAT - Semana Interna de Preveno de Acidentes do Trabalho
SST - Segurana e Sade no Trabalho SST
WHAT IF - O que - se
9
RESUMO
O presente trabalho tem por finalidade identificar os riscos na atividade de
execuo de formas com utilizao da serra circular e propor medidas de segurana, atravs
de anlises de Anlise Preliminar de Riscos (APR) e Anlise de Modos de Falha e Efeitos
(AMFE). A relevncia deste segmento implica na necessidade de preveno de acidentes na
operao com serra circular objetivando minimizar os riscos relacionados a segurana e a
sade do trabalhador. A partir da compreenso desses conceitos as autoras apresentam estudo
de caso na operao com serra circular da construo civil com o objetivo de evidenciar a
importncia desta pesquisa.
Palavras-chave: Anlise de riscos. Serra circular. Segurana.
10
ABSTRACT
The purpose of this work, is to identify in the concrete forms execution, the risks
involved in the use of circular saw, also, it is proposed, by using Preliminary Risk Analysis
(PRA) and (FMEA) Failure Modes and Effect Analysis. In order to assure safety and health to
the worker in the civil construction segment it is of paramount need to develop means for
circular saw safer operation. By this study and application of risk analysis to a case study of
circular saw in the civil construction sector the authors hope to make come it practices
contribution.
Word-key: Risks Analysis. Circular Saw Machine. Safety.
11
CAPTULO I
1 INTRODUO
No contexto atual, a construo civil um dos setores que apresenta considervel
crescimento e importncia, sendo assim, discute-se muito e com elevado interesse, o
investimento em segurana.
Em funo disto abordar-se- neste trabalho o seguinte tema: Anlise de riscos
nas atividades de execuo de formas utilizando serra circular. O interesse pelo tema busca
apresentar diretrizes bsicas, visando melhoria continua da segurana do trabalho nesta
atividade. Com o intuito de contribuir para a evoluo do setor, a partir da busca pelas
melhores prticas, com a reduo dos riscos de acidentes e um melhor desempenho das
equipes e profissionais da construo civil.
Tendo como objetivo, analisar os riscos segurana do trabalhador nos servios
executados, para tal tornar-se- necessrio levantar os riscos de cada tipo de servio
executado no canteiro de obras. Neste, levantar-se- os riscos na atividade de execuo de
formas, mais precisamente, na utilizao da serra circular .
Os riscos sero levantados nos servios executados no Canteiro de Obras do
Residencial Jardim di banos, no qual consta de onze casas geminadas, com rea de
983,08m, localizada em Cricima SC.
Atravs de anlise prtica vivenciada diariamente no canteiro de obras, pretende-
se analisar o procedimento de execuo de formas, utilizando serra circular, levantar os riscos
inerentes neste servio.
Aps abordagem no canteiro de obras e diagnstico dos riscos decorrentes do uso
da serra circular, analisar-se- as aplicaes prticas utilizadas no canteiro de obras para
combater os riscos existentes, verificando tambm a eficcia das aes.
Para realizao destas anlises utilizou-se de conhecimentos e experincia como
profissionais atuando na rea de Engenheira Civil .
12
1.1 Problemtica
Ainda hoje somos desafiados a evitar acidentes todos os dias. Nos canteiros de
obras h riscos a serem neutralizados e controlados. A nfase neste trabalho ser voltada para
os servios de execuo de formas utilizando serra circular, em funo disso definimos a
seguinte problemtica:
Quais so os riscos de acidentes de trabalho nos servios de execuo de formas
com a utilizao da serra circular?
1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo Geral
Identificar os riscos de acidentes nos servios de execuo de formas com
utilizao serra circular.
1.2.2 Objetivo Especfico
Tem-se como objetivo especfico:
- Realizar uma reviso bibliogrfica com o intuito de estabelecer conceitos,
conhecer a legislao e as normas de segurana relativas aos riscos na
atividade;
- Observar e descrever as atividades dos trabalhadores envolvidos na atividade
de execuo de formas;
13
- Utilizar as tcnicas de anlise de risco para identificar os riscos de maior
incidncia.
1.3 Justificativa
Devido existncia dos riscos dentro dos procedimentos dos servios executados
na construo civil, h a necessidade de identific-los e criar condies e procedimentos que
aliem segurana do trabalhador e qualidade da obra.
Observando-se a necessidade de analisar os riscos aos trabalhadores envolvidos na
atividade de execuo de formas e tendo como premissa que a Engenharia de Segurana do
Trabalho atua na preveno de acidentes que se optou por fazer o presente trabalho. Alm
de haver preocupao da empresa quanto ao aspecto de oferecer servios com qualidade e
segurana aos seus empregados.
Propor-se- nesta monografia, um estudo sobre os riscos inerentes ao trabalho na
atividade de execuo de formas, bem como a apresentao e pesquisa de tcnicas de anlise
de riscos, enfatizando as tcnicas Anlise Preliminar de Riscos (APR) e Anlise dos Modos
de Falha e Efeitos (AMFE). Estas ferramentas sero especificamente utilizadas no estudo de
caso com serra circular.
O estudo das tcnicas de anlise de riscos se faz necessrio porque permite avaliar
detalhadamente um objeto com a finalidade de identificar perigo e avaliar os riscos
associados. O objeto pode ser tanto organizao como a rea, sistema, processo, atividade ou
operao.
Embora no tenha ocorrido nenhum acidente no canteiro de obras, tem-se a
informao da ocorrncia de acidentes em outras obras do setor. Diante disto, considerou-se
importante contribuir nesta rea de segurana associando os perigos agregados a serra circular
com as tcnicas de anlise de riscos de maneira a preveni-los antes que ocorram.
14
1.4 Metodologia
1.4.1 Base Filosfica
Segundo Pacheco Jr e Pereira (2003), o estruturalismo busca estudar o processo
em que as variveis esto envolvidas e, desse modo, maior importncia se d ao
conhecimento do prprio processo, em detrimento da relao entre variveis. Para Trivios
(1987), a estrutura prpria de todos os fenmenos, coisas, objetos e sistemas que existem
na realidade. E uma forma interior que caracteriza a existncia do objeto. Ela preserva a
unidade que peculiariza a coisa atravs das conexes estveis que se estabeleceu entre os
diferentes elementos que a constituem.
1.4.2 Mtodo de Pesquisa
Os mtodos utilizados nesta pesquisa foram o dedutivo que, partindo das teorias e
leis, na maioria das vezes prediz a ocorrncia dos fenmenos particulares e o descritivo, pois
parte de observaes de como so executados os servios na atividade de execuo de formas
com subseqente descrio o que possibilita concluses finais sobre o objeto de pesquisa.
O mtodo dedutivo, de acordo com Pacheco Jr e Pereira (2003), o mtodo que
parte do geral e, a seguir, desce ao particular e com o objetivo de explicar o contedo das
premissas de pesquisa.
Segundo Pacheco Jr e Pereira (2003), mtodo descritivo o processo de raciocnio
em que se parte da premissa de que os fenmenos para serem compreendidos em suas
especificidades devem ser objeto de observao [...].
15
1.4.3 Caracterizao da Pesquisa
Sero considerados trs aspectos:
- Natureza;
- Carter;
- Profundidade;
- Tcnicas da Pesquisa
1.4.3.1 Natureza da Pesquisa
A abordagem qualitativa foi selecionada como mtodo de pesquisa, tendo em
vista que o estudo tem natureza exploratrio-interpretativa, visando a captar atravs do estudo
de caso dados primrios (observaes sobre risco com atividade de serra circular) e
secundrios (bibliografia), os ndices oficiais de ocorrncia de acidentes.
1.4.3.2 Carter da Pesquisa
Conforme Malhotra (2001, p.155), pesquisa qualitativa a metodologia de
pesquisa no-estruturada, exploratria, baseada em pequenas amostras que proporciona
insights e compreenso do contexto do problema.
Segundo Pacheco Junior, W e Pereira, V. L. D. V.(2003), a pesquisa caracteriza-
se por ser exploratria, quando no se conhece muito bem sobre o tema ou fenmeno objeto
de pesquisa e, desse modo buscam-se informaes e relaes entre os elementos em estudo,
possibilitando obter-se um maior conhecimento.
De acordo com Trivios (1987), so os estudos exploratrios que permitem ao
investigador aumentar sua experincia em torno de determinado problema.
16
1.4.3.3 Profundidade da Pesquisa
O estudo de caso uma das formas de fazer pesquisa em estudos organizacionais
e gerenciais contribuindo com a essncia do tema para aumentar o conhecimento cientfico
sobre o assunto e relacionar as melhorias e resultados operacionais e estratgicos das
empresas em estudo. Para Yin (2001) um estudo de caso uma investigao emprica que
investiga um fenmeno contemporneo dentro de um contexto de vida real, especialmente
quando os limites entre o fenmeno e o contexto no esto claramente definidos. O estudo de
caso representa uma maneira de se investigar um tpico emprico, atravs de procedimentos
especficos.
Segundo Trivios (1987), o estudo de caso tem por objetivo aprofundar a
descrio de determinada realidade. No estudo de caso, os resultados so vlidos s para o
caso que se estuda, mas fornece o conhecimento aprofundado de uma realidade delimitada
que os resultados atingidos podem permitir e formular hipteses para o encaminhamento de
outras pesquisas.
Para o desenvolvimento do trabalho, inicialmente, proceder-se- a seleo de
bibliografia de referncia para o necessrio embasamento terico dos principais conceitos
relacionados ao tema do trabalho. Aps, realizar-se- uma pesquisa qualitativa baseado em
estudo de caso em uma empresa da construo civil, Construtora Nunes.
1.4.3.4 Tcnicas da Pesquisa
As tcnicas utilizadas sero:
a) Levantamento bibliogrfico de informaes disponveis sobre construo civil;
b) Levantamento tcnico-documental e bibliogrfico sobre anlise de riscos, tcnicas
aplicveis, dados construtivos e especificaes tcnicas de serra circular; e,
c) Aplicao prtica das tcnicas de anlise de risco APR e AMFE em uma empresa da
construo civil da cidade de Cricima/SC (estudo de caso).
17
1.5 Relevncia Engenharia de Segurana do Trabalho
A relevncia deste trabalho se d:
- Como referncia a novos trabalhos sobre anlise de riscos nas atividades de execuo
de formas;
- Na preveno de acidentes na operao com serra circular;
- Este estudo pode servir como diretriz para que outras empresas possam fazer
programas para evitar acidentes de trabalho no servio analisado.
1.6 Limitaes
Este trabalho limitou-se aplicao de anlise de riscos e tcnicas existentes da
APR e AMFE no estudo de caso. O objeto desta pesquisa ser realizado no Residencial
Jardim di banos, obra da Construtora Nunes localizada em Cricima- SC.
1.7 Estrutura do Trabalho
Objetivando situar o leitor nas partes que compem essa monografia, ser
apresentada uma sntese de cada captulo.
No captulo I far-se- uma descrio do que o trabalho, sua relevncia e
limitaes.
No captulo II ser feita a reviso bibliogrfica, na qual apresentar-se- uma
exposio sobre Construo Civil, caracterizar a indstria, suas particularidades, uma breve
reviso referente atividade nos servios de execuo de formas.
No captulo III far-se- um histrico da empresa onde ser aplicado o estudo de
caso, descrever-se- como o servio de execuo de formas, apresentar-se- em forma de
fluxograma, far-se- observao do servio de execuo de formas de forma a levantar todos
18
os riscos a que o trabalhador est exposto, e por fim do capitulo 3, ser apresentado o
fluxograma do servio mostrando os riscos de cada etapa.
No captulo IV sero apresentados os resultados das observaes sobre anlises de
riscos na atividade de execuo de formas com serra circular.
No captulo V far-se- uma anlise dos dados levantados e recomendaes para
melhorar a segurana nas atividades de execuo de formas.
19
CAPTULO II
2 CONSTRUO CIVIL
2.1 Caracterstica do setor
incontestvel a importncia da indstria da construo, principalmente nos
grandes centros urbanos, onde os canteiros de obras so presenas constantes, seja nos
grandes e modernos prdios comerciais, nas moradias, pontes, viadutos, estradas etc., uma
atividade que nas ltimas dcadas, obteve um desenvolvimento bastante acentuado. O
crescimento do setor da construo no atingiu, no entanto, a todos que nele esto envolvidos:
os seus trabalhadores continuam a levar uma vida de poucas oportunidades e conquistas. Com
baixos salrios e precrias condies de trabalho, a indstria da construo lidera as
estatsticas de acidentes de trabalho apresentando inmeras peculiaridades, envolvendo um
elevado nmero de riscos, razo pela qual so mais difceis e complexas as medidas
preventivas. Em cada fase da obra, mesmo com a evoluo de tcnicas construtivas ao longo
dos anos, predominam tcnicas artesanais e a interferncia de fatores ambientais como chuva,
umidade, calor, frio, velocidades dos ventos, entre outros. A falta de um efetivo
gerenciamento do ambiente de trabalho, do processo produtivo e de orientao aos
trabalhadores, fez com que inmeros acidentes de trabalho, principalmente os graves e fatais,
tivessem um significativo aumento em relao a outros ramos de atividades. importante
ressaltar que a reformulao da Norma Regulamentadora (NR) N 18, publicada no Dirio
Oficial da Unio em 07 de julho de 1995, se constitua num mecanismo de constantes avanos
na melhoria das condies de trabalho nos canteiros de obras, o que refora a necessidade de
se implementar aes integradas na indstria da construo (http:// www.habitare.org.br).
Mesmo sendo a Construo Civil o setor da economia responsvel pela criao e
manuteno de grande nmero de empregos diretos e indiretos no Brasil, o descaso com os
trabalhadores continua gerando elevados ndices de acidentes de trabalho. Esses elevados
ndices se caracterizam devido a uma srie de peculiaridades que acabam tornando as medidas
20
preventivas para acidentes de trabalho muito complexas. Segundo pesquisas, amplamente
divulgadas pelo Ministrio do Trabalho e Emprego, a Construo Civil responsvel por
21,55% (FUNDACENTRO, 1981) de todos os acidentes registrados no pas. Este elevado
ndice deve-se situao precria, no que diz respeito higiene, segurana, treinamento e
meio ambiente, que se encontra o setor da Construo Civil.
Essas ms condies de higiene e segurana no trabalho existentes nos canteiros
de obra, segundo Saurin (2000, pg. 01), tem sido apontadas com freqncia como um dos
smbolos do atraso tecnolgico e gerencial que caracteriza a indstria da construo. Por outro
lado, nos ltimos anos tem se observado no pas um grande esforo no sentido de modernizar
este setor industrial, principalmente motivado pelo aumento da competio e pelo crescente
grau de exigncia de qualidade por parte dos consumidores e produtividade por parte dos
empreendedores.
Os empregados da indstria da construo civil apresentam instabilidade
empregatcia; em pocas de crescimento do setor, so recrutados da zona rural ou de estados
mais pobres sem nenhum treinamento especfico e, portanto, sem qualificao profissional
(BARROS JNIOR et al., 1990). A baixa qualificao, a elevada rotatividade e o reduzido
investimento por parte das empresas em treinamento e desenvolvimento costumam ser algo
caracterstico dessa indstria (ANDRADE E BASTOS, 1999).
A modernizao da indstria da construo civil, com nfase na gesto da
produo, levou a exigncia de maior produtividade e qualidade do produto, fazendo as
empresas passar a se preocupar com os operrios, no sentido de trein-los, capacit-los e faz-
los criar vnculos de fidelidade com as mesmas (CORDEIRO e MACHADO, 2002). Os
ndices vm diminuindo com as contribuies da NR18 e das aes desenvolvidas pelos
Comits Permanentes Regionais sobre Condies e Meio Ambiente do Trabalho na Indstria
da Construo (CADERNO..., 2003).
Tendo-se, no Brasil, uma grande massa de trabalhadores em situao de
informalidade das relaes contratuais, a tendncia elevar-se a subnotificao acidentria, j
importante no pas (RIGOTTO, 1998). Essa situao, acrescida do fato de que a populao ser
formada ainda por uma grande parcela de pessoas desconhecedoras de seus direitos, faz com
que os trabalhadores acabem admitindo a culpa pelos acidentes de trabalho, no chegando a
procurar atendimento sade ou, quando o fazem, omitem o seu problema de sade como
sendo relacionado ao trabalho.
21
Perante todas estas situaes resulta um numeroso conjunto de riscos objetivos e
bastante elevados, que transformam este setor num dos setores de atividade com maiores
probabilidades de ocorrncia de acidentes de trabalho, associados forte precariedade,
rotatividade e prtica de subcontratao.
2.1.1 Desenvolvimento tecnolgico da construo civil no Brasil
Diante de um pas com grande dficit habitacional, a incorporao de meios e
tcnicas construtivas voltadas para racionalizao, diminuio dos custos e melhoria da
qualidade de uma habitao, so de extrema importncia no sentido de sanar, ou, pelo menos
diminuir este dficit. A partir do final da dcada de 1980, uma nova realidade scio-
econmica caracteriza a sociedade e a economia mundial. Em meados da dcada de 1990
promulgado o cdigo de defesa do consumir e o governo federal desenvolve polticas mais
efetivas visando estabilidade econmica. Este quadro poltico, social e a crise econmica
reduzem significativamente o mercado consumidor. Este fato promove acirrada concorrncia
entre as empresas, que passam a investir em eficincia na utilizao dos seus recursos e na
qualidade de seus produtos (THOMAZ, 2001). Alm disso, fora as empresas a buscarem
alternativas no seu modo de produo, a oferecerem produtos mais acessveis e melhores e
obriga a repensarem sua forma de produzir, visando sua sobrevivncia neste mercado.
As indstrias esto estruturadas por meio de cadeias de dependncias, com elos
mais fortes ou fracos, dependendo do grau de desenvolvimento e do patamar tecnolgico das
unidades que participam desta cadeia, na qual existe um centro hegemnico de todo processo
poltico e produtivo.
Este centro domina por completo todas as relaes entre as partes que compem a
estrutura. Se uma unidade se torna obsoleta, em relao ao todo, ela ser substituda por outra
mais adequada e, provavelmente, desaparecer do mercado.
Enquanto que nos setores industrializados em geral o poder de deciso est
concentrado na indstria polarizadora, na construo civil ele est pulverizado em vrios
segmentos que participam da macro-estrutura produtiva. Esta gama de agentes com interesses
diversos e diferentes graus de desenvolvimento tecnolgico, interfere de forma decisiva no
22
produto final do setor (MARTUCCI, 1990), como tambm, no seu ritmo de modernizao
tecnolgica, fazendo com que este se d de forma lenta em relao a outros segmentos
industriais.
A passagem da construo civil do estgio de processo artesanal para o de
indstria de montagem, adquire contornos irreversveis, apesar das resistncias que ainda
sobrevivem. Certas posturas e vcios de comportamento ainda esto por mudar, paralelamente
ao que se refere ao conhecido trip tecnologia/qualidade/produtividade.
Sinal dos tempos, sete anos atrs se fundava o Instituto de Tecnologia da
Qualidade na Construo (ITQC), mesma poca em que um grande nmero de empresas
brasileiras comeou a desaparecer - umas foram incorporadas, outras simplesmente deixaram
de existir, porque no souberam se renovar em tempo hbil. E antes ainda, o Instituto de
Engenharia, se adiantando, j havia deflagrado a discusso em torno do problema, "A criao
do ITQC foi uma das conseqncias da preocupao dos diversos segmentos do setor da
construo civil com sua sobrevivncia, lembra o vice-presidente do rgo, prof Vahan
Agopian. Eles se juntaram e criaram o ITQC, que apenas um aglomerador, incentivador da
evoluo da tecnologia e da qualidade . O Instituto no executa, apenas levanta o problema,
articula e, principalmente em projetos de mbito nacional em que trabalham vrias
instituies, o ITQC atua como canalizador e integrador de informaes, viabilizando
trabalhos e estudos".
Para o professor Vahan, "h muito a ser feito ainda no Brasil pela melhora da
construo civil, uma indstria atpica no mundo inteiro, o que no quer dizer que nossa
indstria seja pior do que a americana, japonesa, ou australiana. Ela diferente".
Ele concorda que, "quando se fala em qualidade, no existe esse fator isolado, mas
todos os elos da cadeia ficam envolvidos: o material, a execuo, a manuteno, a fiscalizao
e assim por diante. A construtora tem de interagir com a empreiteira, quando uma construtora
implanta qualidade, ela acaba incentivando toda a corrente produtiva".
importante ressaltar que a indstria da construo civil est inserida num mundo
interdependente, sofrendo conseqncias de aes que no esto diretamente associados s
decises tomadas por ela. Por muitos anos, a construo civil ficou adormecida e o mercado
de trabalho sem perspectiva de melhora. Existe, no momento, a confiana de um novo tempo
com perspectivas positivas de desenvolvimento e crescimento. O papel desta indstria est
associado s melhorias da qualidade de vida das pessoas e isto faz com que este papel seja
23
mutvel, pois as necessidades humanas so ilimitadas e a inovao tecnolgica uma fonte
renovadora deste movimento (REVISTA ENGENHARIA,1999).
2.2 Normatizao tcnica e certificao de conformidade
As normas tcnicas so um processo de simplificao, pois reduzem a crescente
variedade de procedimentos e produtos. Assim, elas eliminam o desperdcio, o retrabalho e
facilitam a troca de informaes entre fornecedor e consumidor ou entre clientes internos.
Outra finalidade importante de uma norma tcnica a proteo ao consumidor, especificando
critrios e requisitos que aferem o desempenho do produto/servio, protegendo assim tambm
a vida e a sade.
A normatizao e os procedimentos de avaliao da conformidade (em particular
a certificao) so instrumentos que tm se mostrado teis e extremamente eficientes para
lidar com a questo da segurana numa grande variedade de atividades humanas. Tem-se
como exemplo de sucesso, o processo de normatizao estabelecido pela construo civil nos
ltimos 15 anos.
Como instrumento, as normas tcnicas contribuem em quatro aspectos:
Qualidade: fixando padres que levam em conta as necessidades e desejos dos usurios;
Produtividade: padronizando produtos, processos e procedimentos;
Tecnologia: consolidando, difundindo e estabelecendo parmetros consensuais entre
produtores, consumidores e especialistas, colocando os resultados disposio da sociedade;
Marketing: regulando de forma equilibrada as relaes de compra e venda.
O Comit Brasileiro responsvel pela elaborao das normas tcnicas de
componentes, elementos, produtos ou servios, utilizados na construo civil, abrangendo
seus aspectos referentes ao planejamento, projeto, execuo, mtodos de ensaio,
armazenamento, transporte, operao, uso e manuteno, e necessidades do usurio,
subdivididas setorialmente.
Alm de ser uma meta da empresa, a segurana tambm uma obrigao legal,
cabendo ao empregador cumprir a legislao vigente. As Normas Regulamentadoras (NR) no
24
Brasil so normas genricas que estabelecem os requisitos aos quais todas as indstrias devem
atender, existindo, porm, normas especficas para alguns setores, como o caso da indstria
da construo.
A Associao Brasileira de Normas Tcnicas (ABNT) se insere no Sistema
Nacional de Metrologia, Normatizao e Qualidade Industrial (SINMETRO). A ABNT o
organismo reconhecido pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizao e Qualidade
Industrial (CONMETRO) como o frum nico de normatizao no Brasil cuja norma pode
no s ser usada para a defesa do mercado nacional, como tambm para facilitar o acesso da
empresa brasileira ao mercado internacional.
Geralmente, costuma-se confundir norma com regulamento tcnico. A norma
muito importante, mas costuma ser mencionada apenas aps o problema ter ocorrido. Existe
cerca de 34 autoridades federais que podem estabelecer regulamentos tcnicos, mas s o
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizao e Qualidade Industrial (INMETRO)
regulamenta sobre matrias que no estejam includas na relao subordinada a essas 34
autoridades federais. Pelo Acordo de Barreiras Tcnicas da Organizao Mundial do
Comrcio (OMC), s podem ser estabelecidos requisitos num regulamento tcnico se estes
estiverem de acordo com a norma mundial.
2.3 Segurana na construo civil
Tendo como meta, atingir a melhor qualidade de um processo ou de um produto,
extremamente necessrio um ambiente de trabalho em condies adequadas para o
profissional direcionar toda a sua potencialidade no que est sendo executado. Por esta razo,
Segurana do Trabalho e Qualidade so sinnimos, mas no basta apenas se deter na
qualidade de material empregado e no produto final obtido, deve-se levar em conta tambm
qualidade da segurana e da sade ocupacional dos trabalhadores direta e indiretamente
envolvidos no processo. A falta de um projeto que gerencie a sade e segurana compromete
a produtividade, a qualidade, os custos, os prazos de entrega, a confiana dos clientes e o
prprio ambiente de trabalho. O gerenciamento da segurana pode levar ao mesmo caminho
da garantia da qualidade. Segurana na construo um padro de qualidade que pode ser
determinado no contrato e requerido pelos clientes.
25
Segurana do Trabalho passa a ter importncia fundamental para a consecuo
dos mais altos ndices de qualidade e produtividade. Muitas empresas tm a segurana e a
sade do trabalhador como estratgia competitiva, buscando diretamente a satisfao dos
trabalhadores, ao mesmo tempo em que priorizam a educao, o treinamento e a motivao
(CARVALHO,1995).
Os mtodos de preveno de acidentes so to importantes quanto aos mtodos
requeridos para o controle da qualidade. Entendemos que os mesmos fatores que ocasionam
acidentes no trabalho podem causar as perdas na produo, bem como problemas de
qualidade e custo. Para evitar e prevenir os acidentes necessrio informar adequadamente o
trabalhador sobre todos os riscos e cuidados. Uma empresa que busca reduzir as chances de
ocorrncia de acidentes e diminuir as suas conseqncias deve atentar para trs elementos
fundamentais: preveno de riscos, informao e treinamento dos trabalhadores. Para isto, a
empresa deve elaborar e colocar em prtica um Programa de Segurana e Sade, obedecendo,
rigorosamente, as Normas de Segurana do Trabalho, principalmente, a Norma
Regulamentadora n 18: Condies e meio ambiente de trabalho na indstria da construo.
Segundo Lo (1996), num estudo em que analisa a segurana no setor da
construo civil em Hong Kong, a incorporao de elementos de segurana e auditoria de
segurana, na implementao do sistema de gerenciamento da qualidade, atravs da ISO
9000, tem demonstrado ser uma ferramenta de sucesso na melhoria da segurana ocupacional.
Este ainda reala a identificao de problemas e tomada de aes corretivas como uma
estratgia efetiva para promover a segurana.
Na construo civil, existe uma multiplicidade de fatores de riscos que predispe
o operrio ao acidente, tais como instalaes provisrias inadequadas, jornadas de trabalho
prolongadas, a negligencia quanto ao uso ou uso de maneira incorreta do equipamento de
proteo individual (EPI) e a falta do equipamento de proteo coletiva (EPC), outros fatores
que tambm devem ser considerados so os fatores scio-econmico, alimentao, formao e
conscientizao da mo-de-obra.
Todos esses fatores esto inter-relacionados com a segurana do trabalho e
contribuem para que se tenha um grande nmero de acidentes de trabalho. Segundo
estatsticas oficiais, publicadas no ANURIO BRASILEIRO DE PROTEO/00, em 1999
foram registrados 424,137 acidentes de trabalho em todo o pas, sendo a indstria da
construo civil um dos setores que apresentou uma freqncia maior de acidentes, perdendo
apenas para a indstria extrativa.
26
2.3.1 Conceitos bsicos
2.3.1.1 Acidente e Quase-acidentes
Muitas so as definies de acidente, e variam segundo o enfoque: legal,
prevencionista, ocupacional, estatstico, previdencirio etc. Uma definio abrangente e
genrica apresenta o seguinte enunciado:
Acidente um evento indesejvel e inesperado que produz desconforto,
ferimentos, danos, perdas humanas e ou materiais. Um acidente pode mudar totalmente a
rotina e a vida de uma pessoa, modificar sua razo de viver ou colocar em risco seus negcios
e propriedades. Ao contrrio do que muitas pessoas imaginam o acidente no obra do acaso
e nem da falta de sorte. (http://bauru.unesp.br/curso_cipa/3_seguranca_do_trabalho/
1_acidentes.htm)
Sob o ponto de vista dos especialistas em Segurana, os acidentes so "causados"
por fatores conhecidos, previsveis e controlveis. Acidente uma ocorrncia no
programada, inesperada ou no, que interrompe ou interfere no processo normal de uma
atividade, ocasionando perda de tempo til e/ou leses nos trabalhadores e/ou danos materiais
(http://www.areaseg.com/segpedia/).
O incidente crtico qualquer evento ou ocorrncia que, embora com
potencialidade de provocar danos corporais e/ou materiais graves, no manifesta estes danos.
Ou seja, quase acidente um evento ou ocorrncia inesperada, relacionada a um trabalhador
ou a um equipamento, que por pouco deixou de ser um acidente (http://www.areaseg.com/
segpedia/).
2.3.1.2 Condies inseguras e atos inseguros
Milhares podem ser as causas de um simples acidente, entretanto todas elas
podem ser agrupadas em duas categorias: condies inseguras e atos inseguros. De acordo
com a Norma Brasileira (NB) 18 da ABNT existem vrios aspectos que decorrem dessas
27
causas. Segundo Piza, (1997), deve-se entender que o acidente sempre ocorre como resultado
da soma de atos e condies inseguras que so oriundos de aspectos psicossociais
denominados fatores pessoais de insegurana.
A condio insegura um termo tcnico utilizado em preveno de acidentes que
tem como definio as circunstncias externas de que dependem as pessoas para realizar seu
trabalho que sejam incompatveis ou contrrias com as normas de segurana e preveno de
acidentes. Como essas condies esto nos locais de trabalho pode-se deduzir que foram
instaladas por deciso e/ou mau comportamento de pessoas que permitiram o
desenvolvimento de situaes de risco queles que l executam suas atividades. Conclui-se,
portanto, que as condies inseguras existentes so, via de regra, geradas por problemas
comportamentais do homem, independente do seu nvel hierrquico dentro da empresa. So
exemplos de condies inseguras: instalao eltrica com fios desencapados, mquinas em
estado precrio de manuteno, andaime de obras de construo civil feitos com materiais
inadequados.
O Ato Inseguro um termo tcnico utilizado em preveno de acidentes que,
conforme a escola possui definies diferentes, porm com o mesmo significado. Entendem-
se como ato inseguro todos os procedimentos do homem que contrariem normas de preveno
de acidentes. As atitudes contrrias aos procedimentos e/ou normas de segurana que o
homem assume podem, ou no, ser deliberadas. Normalmente, quando essas atitudes no so
propositais, o homem deve estar sendo motivado por problemas psicossociais.
Atualmente os termos condio e ato inseguro, em investigaes de acidentes, no
so mais utilizados. Os profissionais preferem descrever a condio ou o ato inseguro
cometido, o que facilita, em muito, a anlise dos acidentes, ao invs de generaliz-los (PIZA,
1997).
2.3.1.3 Perigo e risco
De Cicco e Fantazzini (1994), define que antes de um estudo especfico sobre
riscos e seu gerenciamento, h a necessidade de se definir alguns conceitos bsicos, sobre
termos corriqueiramente aceitos. Alberton (1996), compilou os termos bsicos mais aceitos
entre os profissionais e estudiosos no assunto.
28
Perigo: Expressa uma exposio relativa a um risco que favorece a sua materializao em
danos. Se existe um risco, face s precaues tomadas, o nvel de perigo pode ser baixo ou
alto, e ainda, para riscos iguais podem-se ter diferentes tipos de perigo.
Causa: a origem de carter humano ou material relacionada com o evento catastrfico
resultante da materializao de um risco, provocando danos.
Dano: a severidade da perda tanto humana, material, ambiental ou financeira. a
conseqncia da falta de controle sobre um determinado risco. O risco (probabilidade) e o
perigo (exposio) podem manter-se inalterados e mesmo assim existir diferena na gravidade
do dano.
Perda: o prejuzo sofrido por uma organizao sem garantia de ressarcimento atravs de
seguros ou por outros meios.
Perigo a possibilidade de sofrer perda, dano fsico, dano propriedade, a
equipamento, dano ao meio ambiente, doenas etc. Situao inerente com capacidade de
causar leses sade das pessoas Organizao Internacional do Trabalho (OIT). Segundo De
Cicco e Fantazzini (1982) perigo expressa uma exposio relativa a um risco, que favorece a
sua materializao em danos. Dano a severidade da leso, ou a perda fsica, funcional ou
econmica, que podem resultar se o controle sobre o risco perdido.
Risco uma possibilidade real ou potencial capaz de causar leso e/ou morte,
danos ou perdas patrimoniais, interrupo de processo de produo ou de afetar a comunidade
ou o meio ambiente. Uma combinao da probabilidade de que ocorra um acontecimento
perigoso com a gravidade de leses ou danos sade da pessoa, causado por este
acontecimento (OIT), (http://www.areaseg.com/segpedia/).
Para De Cicco e Fantazzini (1982), risco uma ou mais condies de uma
varivel, com o potencial necessrio para causar danos. Esses danos podem ser entendidos
como leses a pessoas, danos a equipamentos ou estruturas, perda de material em processo, ou
reduo da capacidade de desempenho de uma funo pr-determinada. Havendo um risco,
persistem as possibilidades de efeitos adversos.
29
2.3.2 Normatizao em Segurana e Sade na Indstria da Construo
A segurana do trabalho uma conquista relativamente recente da sociedade, pois
ela s comeou a se desenvolver modernamente, ou como a entendemos hoje, no perodo
entre as duas grandes guerras mundiais (CRUZ, 1996). Na Amrica do Norte, a legislao
sobre segurana s foi introduzida em 1908, sendo que s a partir dos anos 70 ela se tornou
uma prtica comum para todos os integrantes do setor produtivo, j que antes disso ela s era
foco de especialistas, governo e grandes corporaes (MARTEL e MOSELHI, 1988).
No Brasil, as leis que comearam a abordar a questo da segurana no trabalho s
surgiram no incio dos anos 40. Segundo Lima Jr. (1995), o qual fez um levantamento desta
evoluo, o assunto s foi mais bem discutido em 1943 a partir do Captulo V do Ttulo II da
Consolidao das Leis do Trabalho (CLT). A primeira grande reformulao deste assunto no
pas s ocorreu em 1967, quando se destacou a necessidade de organizao das empresas com
a criao dos Servios Especializados em Engenharia de Segurana e em Medicina do
Trabalho (SESMT).
O grande salto qualitativo da legislao brasileira em segurana do trabalho
ocorreu em 1978 com a introduo das vinte e oito normas regulamentadoras (NR) do
Ministrio do Trabalho.
Ainda que todas as NR sejam aplicveis construo, destaca-se entre elas a NR-
18, visto que a nica especfica para o setor. Alm das NR, a segurana do trabalho na
construo tambm abordada em algumas normas da ABNT, tais como a NBR 5410
(Instalaes Eltricas de Baixa Tenso) e a NB- 56 (Segurana nos Andaimes).
A primeira modificao da NR-18 se deu em 1983, tornando-a mais ampla. A
ltima grande reformulao ocorreu em 1995, quando a norma sofreu uma grande evoluo
qualitativa, destacando-se principalmente, a sua elaborao no formato tripartite
1
. Ao carter
tripartite somou-se a deciso de que todas as exigncias fossem aprovadas de forma
consensual, resolvendo-se, atravs de concesses das partes, eventuais impasses. Este esforo
foi despendido com o objetivo de desenvolver uma legislao democrtica e com isto
aumentar a aceitabilidade da norma por todos os envolvidos na sua implantao.
1
O formato tripartite consiste na discusso e aprovao de legislaes atravs de uma bancada composta por trs grupos distintos, sendo um deles o mediador (no caso
brasileiros existe a bancada dos empregados, dos empregadores e do governo, sendo este ltimo o mediador). No Brasil, o formato do tripartismo paritrio, ou seja, cada
uma das trs bancadas possui exatamente o mesmo nmero de integrantes.
30
Entretanto, apesar da nova NR-18 ter sido elaborada e aprovada atravs destes
mecanismos, nota-se a sua freqente falta de cumprimento e a persistncia de altos ndices de
acidentes de trabalho (COSTELLA, 1999).
A seguir ser feita uma descrio das normas existentes em segurana e sade na
Indstria da Construo Civil. As normas aqui descritas podem ser encontradas no endereo
eletrnico(http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./sms/index.html&conteu
do=./sms/seg.html#sesmt).
2.3.2.1 Norma Regulamentadora N
o
4 (SESMT)
Os Servios Especializados em Engenharia de Segurana e em Medicina do
Trabalho (SESMT) so mantidos obrigatoriamente, pelas empresas privadas e pblicas, os
rgos pblicos da administrao direta e indireta e dos Poderes Legislativo e Judicirio, que
possuam empregados registrados pela Consolidao das Leis do Trabalho (CLT). Os SESMT
tm a finalidade de promover a sade e a integridade fsica do trabalhador no local de
trabalho, sendo que o seu dimensionamento vincula-se a gradao do risco da atividade
principal e ao nmero total de empregados do estabelecimento constantes na Norma
Regulamentadora de Segurana e Medicina do Trabalho, NR N
o
4. Os SESMT devem manter
entrosamento permanente com a Comisso Interna de Preveno de Acidentes (CIPA), dela
valendo-se como agente multiplicador, e devem estudar suas observaes e solicitaes,
propondo solues corretivas e preventivas, conforme disposto na Norma Regulamentadora,
NR 5.
A empresa responsvel pelo cumprimento da NR4, devendo assegurar, como um
dos meios para concretizar tal responsabilidade, o exerccio profissional dos componentes dos
SESMT.
31
2.3.2.2 Norma Regulamentadora N
o
5 (CIPA)
A CIPA tem como objetivo a preveno de acidentes e doenas decorrentes do
trabalho, de modo a tornar compatvel permanentemente o trabalho coma a preservao da
vida e a promoo da sade do trabalhador. A CIPA deve ser composta de representantes do
empregador e dos empregados, de acordo com o dimensionamento previsto na Norma
Regulamentadora NR 5.
A CIPA tem como principais atribuies:
- Identificar os riscos do processo do trabalho elaborando um mapa de riscos;
- Elaborar um plano de trabalho com aes preventivas de segurana e sade
ocupacional;
- Participar da implementao e do controle da qualidade das medidas
preventivas;
- Verificar os ambientes e condies de trabalho;
- Avaliar o cumprimento das medidas fixadas;
- Colaborar no desenvolvimento do Programa de Preveno de Riscos
Ambientais (PPRA) e Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional
(PCMSO);
- Participar, anualmente, de Campanhas de Preveno da Sndrome da
Deficincia Imunolgica Adquirida (AIDS), em conjunto com a empresa;
- Promover, anualmente, a Semana Interna de Preveno de Acidentes do
Trabalho (SIPAT).
2.3.2.3 Norma Regulamentadora N
o
7 (PCMSO)
O PCMSO parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa no
campo da sade dos trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais
Normas Regulamentadoras de Segurana e Medicina do Trabalho. Considera tambm,
questes incidentes sobre o indivduo e a coletividade de trabalhadores, privilegiando o
instrumento clnico-epidemiolgico na abordagem da relao entre sua sade e o trabalho.
32
O programa tem carter de preveno, rastreamento e diagnstico precoce dos
agravos sade relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclnica, alm de
constatao da existncia de casos de doenas profissionais ou danos irreversveis sade dos
trabalhadores. Este programa deve ser planejado e implantado com base nos riscos sade
dos trabalhadores.
2.3.2.4 Norma Regulamentadora N
o
9 (PPRA)
A elaborao e implementao do PPRA obrigatrio para todos os empregados e
instituies que admitam trabalhadores como empregados. Este programa visa preservao
da sade e da integridade dos trabalhadores, atravs da antecipao, reconhecimento,
avaliao e conseqente controle da ocorrncia de riscos ambientais existentes ou que venham
a existir no ambiente de trabalho, tendo em considerao a proteo do meio ambiente e dos
recursos naturais. As aes do PPRA devem ser desenvolvidas no mbito de cada
estabelecimento da empresa, sob a responsabilidade do empregador, com a participao dos
trabalhadores, sendo sua abrangncia e profundidade dependentes dos riscos e das
necessidades de controle. Considerando-se como riscos ambientais (para elaborao e
entendimento do PPRA), os agentes fsicos, qumicos e biolgicos existentes nos ambientes
de trabalho que, em funo de sua natureza, concentrao ou intensidade e tempo de
exposio, so capazes de causar danos sade do trabalhador.
2.3.2.5 Norma Regulamentadora N
o
18 (PCMAT)
O Programa de Condies e Meio Ambiente na Indstria da Construo Civil
(PCMAT) obrigatrio para os estabelecimentos com vinte (20) trabalhadores ou mais,
contemplando nos aspectos dispostos na Norma Regulamentadora (NR18) e outros
dispositivos complementares de segurana. Este programa deve ser elaborado e executado por
profissional legalmente habilitado na rea de segurana do trabalho.
33
Os documentos que integram o PCMAT so:
- Memorial sobre condies e meio ambiente de trabalho nas atividades e
operaes;
- Projeto de execuo das protees coletivas em conformidade com as etapas da
execuo da obra;
- Especificao tcnica das protees coletivas e individuais a serem utilizadas;
- Cronograma da implantao das medidas preventivas definidas no PCMAT;
- Lay-out inicial do canteiro de obras;
- Programa educativo de preveno de acidentes e doenas do trabalho.
O PCMAT deve ser mantido no estabelecimento disposio do rgo regional
do Ministrio do Trabalho.
2.3.3 Estatstica do setor da Construo Civil para o estado de Santa Catarina
Os dados estatsticos dos acidentes de trabalho relacionados indstria da
construo civil para o perodo de 2002 a 2004 no estado de Santa Catarina apresentam-se nas
tabelas 1 a 6. A classificao de atividades de referncia a Classificao Nacional de
Atividades Econmicas (CNAE).
34
Tabela 1 Indicadores de Acidente do Trabalho para o ano 2002
Selees definidas
Varivel Critrio Valor
Ano igual a 2002
Diviso do CNAE igual a 45: Construo
UF igual a Santa Catarina
Indicadores de Acidente do Trabalho
Indicadores de acidente do trabalho, segundo CNAE, dos estabelecimentos localizados nas Unidades da
Federao e no Brasil.
Indicadores
Classes do CNAE
Tx
Mortal
Tx
Ac
16a34
Incidncia
Inc
Ac
Trab
Inc
Incap
Tx
Letal
Inc
Doena
4511:Demolio e
Preparao do Terreno 0,00 100,00 12,57 8,38 12,57 0,00 0,00
4512:Perfurao,Fundaes
Etc para Construo 0,00 72,00 87,87 84,36 84,36 0,00 0,00
4513:Grandes
Movimentaes de Terra 103,92 45,16 32,22 28,06 33,26 32,26 0,00
4521:Edificaes Diversas 34,04 47,10 31,32 28,44 30,49 10,87 0,64
4522:Obras Virias 0,00 40,28 18,18 16,41 17,42 0,00 0,51
4524:Obras de
Urbanizao e Paisagismo 0,00 50,00 9,35 9,35 9,35 0,00 0,00
4525:Montagem de
Estruturas 597,61 52,17 45,82 41,83 49,80 130,43 1,99
4529:Obras de Outros
Tipos 44,15 53,95 33,56 28,70 34,88 13,16 0,00
4532:Construo
Distribuio Energia
Eltrric 358,69 51,11 80,71 77,12 75,33 44,44 0,00
4533:Construo Redes de
Comunicao 41,62 64,62 27,05 22,89 25,39 15,38 0,00
4541:Instalaes Eltricas 0,00 55,26 45,77 38,55 46,98 0,00 0,00
4542:Instalaes de
Ventilao e Refrigerao 569,25 66,67 51,23 45,54 39,85 111,11 5,69
4543:Inst
Hidrulicas,Sanitrias,Gs,
Incndio 0,00 66,67 32,51 32,51 32,51 0,00 0,00
4549:Outras Obras de
Instalaes 0,00 62,50 31,75 23,81 27,78 0,00 3,97
4551:Alvenaria e Reboco 0,00 38,89 41,01 36,45 41,01 0,00 0,00
4552:Impermeabilizao e
Pintura em Geral 0,00 83,33 19,52 19,52 22,78 0,00 0,00
4559:Outras Obras de
Acabamento 0,00 47,45 53,90 46,03 49,18 0,00 0,39
4560:Aluguel de Equip
Constr, Com Operrios 0,00 0,00 9,53 9,53 9,53 0,00 0,00
4511:Demolio e
Preparao do Terreno 0,00 100,00 12,57 8,38 12,57 0,00 0,00
Fonte: http://www.dataprev.gov.br/
35
Tabela 2 Indicadores de Acidente do Trabalho para o ano 2003
Selees definidas
Varivel Critrio Valor
Ano igual a 2003
Diviso do CNAE igual a 45: Construo
UF igual a Santa Catarina
Indicadores de Acidente do Trabalho
Indicadores de acidente do trabalho, segundo CNAE, dos estabelecimentos localizados nas Unidades da
Federao e no Brasil.
Indicadores
Classes do CNAE
Incidncia
Inc
Ac
Trab
Inc
Incap
Tx
Mortal
Tx
Ac
16a34
Tx
Letal
Inc
Doena
4511:Demolio e
Preparao do Terreno 18,41 4,60 18,41 0,00 0,00 0,00 9,20
4512:Perfurao,Fundaes
Etc para Construo 59,00 55,32 66,38 0,00 75,00 0,00 0,00
4513:Grandes
Movimentaes de Terra 25,41 25,41 23,20 0,00 47,83 0,00 0,00
4521:Edificaes Diversas 24,67 22,02 24,83 23,76 44,94 9,63 0,24
4522:Obras Virias 15,09 14,01 14,28 26,94 30,36 17,86 0,00
4524:Obras de
Urbanizao e Paisagismo 601,47 582,07 417,15 0,00 62,90 0,00 0,00
4525:Montagem de
Estruturas 28,64 20,05 25,78 0,00 10,00 0,00 0,00
4529:Obras de Outros
Tipos 34,33 32,31 30,29 0,00 58,82 0,00 0,00
4532:Construo
Distribuio Energia
Eltrric 117,06 117,06 44,17 0,00 56,60 0,00 0,00
4533:Construo Redes de
Comunicao 59,81 53,52 56,66 314,80 50,00 52,63 0,00
4541:Instalaes Eltricas 25,02 22,11 20,30 0,00 69,57 0,00 0,00
4542:Instalaes de
Ventilao e Refrigerao 39,74 31,05 37,26 0,00 56,25 0,00 3,73
4543:Inst
Hidrulicas,Sanitrias,Gs,
Incndio 45,93 32,80 45,93 0,00 71,43 0,00 0,00
4549:Outras Obras de
Instalaes 50,93 35,26 58,77 391,77 61,54 76,92 0,00
4551:Alvenaria e Reboco 24,58 24,58 31,61 0,00 57,14 0,00 0,00
4552:Impermeabilizao e
Pintura em Geral 38,49 34,44 38,49 202,60 42,11 52,63 0,00
4559:Outras Obras de
Acabamento 24,25 21,22 24,25 0,00 62,50 0,00 0,00
4560:Aluguel de Equip
Constr, Com Operrios 31,52 28,45 29,60 38,44 50,00 12,20 0,38
4511:Demolio e
Preparao do Terreno 58,92 49,10 58,92 0,00 83,33 0,00 0,00
Fonte: http://www.dataprev.gov.br/
36
Tabela 3 Indicadores de Acidente do Trabalho para o ano 2004
Selees definidas
Varivel Critrio Valor
Ano igual a 2004
Diviso do CNAE igual a 45: Construo
UF igual a Santa Catarina
Indicadores de Acidente do Trabalho
Indicadores de acidente do trabalho, segundo CNAE, dos estabelecimentos localizados nas Unidades da
Federao e no Brasil.
Indicadores
Classes do CNAE
Tx
Mortal
Incidncia
Inc
Incap
Inc
Ac
Trab
Tx
Ac
16a34
Tx
Letal
Inc
Doena
4511:Demolio e
Preparao do Terreno 0,00 50,06 42,91 35,76 0,00 0,00 14,30
4512:Perfurao,Fundaes
Etc para Construo 0,00 39,41 36,12 32,84 66,67 0,00 3,28
4513:Grandes
Movimentaes de Terra 0,00 15,02 15,02 14,09 18,75 0,00 0,00
4521:Edificaes Diversas 27,22 24,81 25,43 21,51 43,10 10,97 0,43
4522:Obras Virias 0,00 20,71 21,20 17,75 42,86 0,00 0,25
4524:Obras de
Urbanizao e Paisagismo 464,75 46,47 41,83 46,47 40,00 100,00 0,00
4531:Construo para
Gerao Energia Eltrica 0,00 34,42 33,31 33,31 46,77 0,00 0,56
4532:Construo
Distribuio Energia
Eltrric 0,00 316,55 238,06 290,39 64,46 0,00 10,46
4533:Construo Redes de
Comunicao 181,16 61,59 59,78 50,72 38,24 29,41 0,00
4533:Construo Redes de
Comunicao 181,16 61,59 59,78 50,72 38,24 29,41 0,00
4541:Instalaes Eltricas 0,00 17,90 17,29 14,86 74,58 0,00 0,00
4542:Instalaes de
Ventilao e Refrigerao 101,68 33,55 31,52 26,44 57,58 30,30 0,00
4543:Inst
Hidrulicas,Sanitrias,Gs,
Incndio 0,00 19,79 26,39 19,79 33,33 0,00 0,00
4549:Outras Obras de
Instalaes 0,00 24,03 34,33 17,16 28,57 0,00 0,00
4551:Alvenaria e Reboco 0,00 31,86 27,88 31,86 50,00 0,00 0,00
4552:Impermeabilizao e
Pintura em Geral 210,08 65,13 35,71 54,62 32,26 32,26 8,40
4559:Outras Obras de
Acabamento 0,00 20,29 20,29 20,29 0,00 0,00 0,00
4560:Aluguel de Equip
Constr, Com Operrios 43,44 35,62 36,05 31,27 46,34 12,20 0,00
4511:Demolio e
Preparao do Terreno 641,03 108,97 108,97 96,15 29,41 58,82 0,00
Fonte: http://www.dataprev.gov.br/
37
Tabela 4 Indicadores de Acidente do Trabalho para o ano 2002 Edificaes diversas
Selees definidas
Varivel Critrio Valor
Ano igual a 2002
Diviso do CNAE igual a 4521: Edificaes Diversas
UF igual a Santa Catarina
Indicadores de Acidente do Trabalho
Indicadores de acidente do trabalho, segundo CNAE, dos estabelecimentos localizados nas Unidades da
Federao e no Brasil.
Indicadores
UF
TxAc16a34
TxMortal
IncIncap
Incidncia
IncAcTrab
TxLetal
IncDoena
Santa Catarina 47,10 34,04 30,49 31,32 28,44 10,87 0,64
Fonte: http://www.dataprev.gov.br/
Tabela 5 Indicadores de Acidente do Trabalho para o ano 2003 Edificaes diversas
Selees definidas
Varivel Critrio Valor
Ano igual a 2003
Diviso do CNAE igual a 4521: Edificaes Diversas
UF igual a Santa Catarina
Indicadores de Acidente do Trabalho
Indicadores de acidente do trabalho, segundo CNAE, dos estabelecimentos localizados nas Unidades da
Federao e no Brasil.
Indicadores
UF
TxAc16a34
TxMortal
IncIncap
Incidncia
IncAcTrab
TxLetal
IncDoena
Santa Catarina 44,94 23,76 24,83 24,67 22,02 9,63 0,24
Fonte: http://www.dataprev.gov.br/
Tabela 6 Indicadores de Acidente do Trabalho para o ano 2004 Edificaes diversas
Selees definidas
Varivel Critrio Valor
Ano igual a 2004
Diviso do CNAE igual a 4521:Edificaes Diversas
UF igual a Santa Catarina
Indicadores de Acidente do Trabalho
Indicadores de acidente do trabalho, segundo CNAE, dos estabelecimentos localizados nas Unidades da
Federao e no Brasil.
Indicadores
UF
TxAc16a34
TxMortal
IncIncap
Incidncia
IncAcTrab
TxLetal
IncDoena
Santa Catarina 43,10 27,22 25,43 24,81 21,51 10,97 0,43
Fonte: http://www.dataprev.gov.br/
38
2.3.4 Por que investir em segurana (custos e responsabilidade social)?
Ao investir em segurana do trabalho, uma empresa, alm de cumprir a legislao
trabalhista executando os programas de segurana exigidos por lei, desperta em seus
empregados o "esprito prevencionista", isto , mantm alerta, de forma espontnea, quanto
aos riscos de acidentes, zelando e respeitando as normas de segurana
(http://coralx.ufsm.br/ctism/perguntasst.html).
De acordo com Diesel et al (2001), o setor da construo civil um dos mais
importantes do pas devido ao seu volume, capital circulante, utilidade dos produtos e
principalmente, pelo significativo nmero de empregados.
Medeiros e Rodrigues (2002) tm posio semelhante em estudo onde afirmam
que a influncia da construo civil em nosso pas bastante significativa, pois alm de ser
importante para o desenvolvimento econmico nacional, apresenta-se tecnologicamente com
intensidade crescente, e envolve consigo estruturas sociais, culturais e polticas.
Nesse aspecto no divergem do entendimento que Vras et al (2003), tm
destacando que a construo civil um forte setor para o desenvolvimento de um pas,
impactando a produo, os investimentos, o emprego e o nvel geral de preos, devido terem
importante participao no Produto Interno Bruto (PIB), no que concordam Damio (1999) e
Rolim (2004).
Quanto capacidade de gerar empregos e absorver mo de obra, esse setor
tambm possui extraordinria capacidade de realizao de investimento, contribuindo
sensivelmente para o equilbrio da balana comercial e na gerao de empregos conforme
identificam Damio (1999) e Vras et al (2003).
Uma caracterstica marcante dessa atividade econmica, que no utiliza o
processo fabril tradicional de produo com seus produtos passando pelos postos de trabalho,
onde ento se agrega valor aos mesmos at seu estado final. Na construo civil o produto
fixo e invariavelmente nico, sendo que os postos de trabalho transitam pelo produto
agregando valor.
Quanto s caractersticas da mo-de-obra, a construo civil apresenta
caractersticas marcantes nos aspectos sexo, origem, escolaridade, qualificao, remunerao,
rotatividade, e sindicalizao, aspectos estes que esto diretamente vinculados com os seus
problemas de organizao do trabalho.
39
Diversos autores afirmam que essas caractersticas definem um perfil da mo-de-
obra, a nvel nacional, onde predomina o sexo masculino, a procedncia da zona rural, o
analfabetismo, a desqualificao profissional, a baixa remunerao, a alta rotatividade, baixo
ndice de sindicalizao, precria forma de organizao de trabalho (TAIGY, 1994;
DAMIO, 1999; VALENA, 2003; NBREGA, 2004; ROLIM, 2004).
Quanto funo do trabalhador, estudo realizado por Carvalho et al (1998),
identificou que a mo-de-obra, composta predominantemente por serventes (52,40%),
seguida por pedreiros (21,65%), carpinteiros (13,05%), ferreiros (7,49%).
Com relao faixa etria, observou-se que tanto entre os serventes como entre os
oficiais, 44% deles tm entre 30 e 40 anos, enquanto que 75% dos encarregados e mestres
esto entre os 40 e 50 anos. Acima dos 50 anos, o percentual de 7,8%. 84% deles so
casados.
Esse estudo constata que, quanto ao grau de escolaridade, 41% so analfabetos ou
s assinam o nome, 45% tm primrio incompleto, apenas 8% concluram o primrio, 4%
secundrio incompleto e 2% o secundrio completo (CARVALHO et al, 1998).
2.3.5 Aes em segurana e sade no trabalho na indstria da construo civil
Em 1998, a rea de Segurana e Sade no Trabalho (SST) do Ministrio do
Trabalho e Emprego (MTE) foi incorporada como meta mobilizadora da rea de trabalho,
com a proposta de reduo da taxa de mortalidade dos acidentes de trabalho em 40% at o ano
de 2003 e estabelecendo diversos projetos para o alcance da meta
(http://www.abrasil.gov.br/avalppa/RelAvalPPA2002).
Com a reorientao, o MTE assume integralmente as aes voltadas para a
reduo dos ndices de acidentes do trabalho, por meio do Programa Trabalho Seguro e
Saudvel do Plano Plurianual (PPA), mantendo a meta mobilizadora. Com o objetivo de
concentrar esforos para o alcance da meta de reduo da taxa de mortalidade, a partir de
julho de 2002, mediante a Portaria Interministerial n 52, envolvendo os Ministrios do
Trabalho e Emprego, Previdncia e Assistncia Social, Sade e Meio Ambiente, foi institudo
o Comit Interministerial Gestor do Programa Nacional de Reduo de Acidentes Fatais do
40
Trabalho (PNRAFT), que abrange quatro linhas de ao e dez projetos. Dentre as linhas de
ao tem-se(http://www.abrasil.gov.br/avalppa/RelAvalPPA2002):
- reviso e reconstruo do modelo de organizao do sistema integrado de
segurana e sade no trabalho;
- potencializao das polticas em segurana e sade no trabalho;
- implementao de sistema integrado de gesto em segurana e sade nas
empresas; e,
- aperfeioamento e organizao de sistemas de informao e de pesquisas de
interesse da rea.
Os projetos inseridos neste programa so:
Projeto 1 - reconstruo do modelo de organizao do sistema integrado de segurana e sade
no trabalho;
Projeto 2 - plano de ao integrada para a reduo de acidentes e doenas do trabalho;
Projeto 3 - otimizao da inspeo nos locais de trabalho;
Projeto 4 - aprimoramento da ateno ao trabalhador acidentado;
Projeto 5 - sistema integrado de gesto em segurana e sade nos locais de trabalho;
Projeto 6 - programa nacional articulado de campanhas de preveno de acidentes e doenas
do trabalho;
Projeto 7 - programa nacional de formao e capacitao em segurana e sade no trabalho;
Projeto 8 - financiamento para melhoria das condies e dos ambientes de trabalho;
Projeto 9 - sistema de informao e pesquisa em segurana e sade no trabalho; e
Projeto 10 - sistema de notificao de acidentes e doenas do trabalho.
Cabe ressaltar que para o alcance dos resultados obtidos at o ano de 2002, o
Departamento de Sade e Segurana do Trabalho (DSST) buscou aliar forma tradicional de
realizar a inspeo do trabalho, a novas estratgias que possibilitassem ampliar os resultados
alcanados em termos de melhoria das condies de trabalho. Buscou-se, sobretudo, uma ao
coletiva, por grupo de empresas, por setores econmicos, por base geogrfica. Todas as novas
aes foram desenvolvidas segundo a lgica do tripartismo. Para que tais estratgias fossem
possveis, analisaram-se detalhadamente os indicadores de acidentes e doenas do trabalho e,
41
com base neles, desenhou-se a chamada "geografia do risco". Assim, as atuaes locais e
regionais tiveram que se adequar a um planejamento que estabelecia melhor o foco principal
de atuao. Visando possibilitar a nova atuao em termos de auditoria, foi preciso investir
bastante em capacitao, no s dos auditores fiscais do trabalho, mas tambm de
representantes de empregadores e de trabalhadores. Em que pese os resultados do ano de 2002
estarem conforme o esperado, cabe acrescentar que as novas metodologias de atuao
estratgica e coletiva implicaro em uma reduo das metas quantitativas para os prximos
anos. Essa reduo possibilitar continuar agregando critrios de qualidade. Ser preciso
tambm definir novas metodologias de aferio de metas para possibilitar melhor visualizao
dos resultados obtidos.
Atualmente em todo o pas, sindicatos de categoria, sindicatos patronais, e
Delegacia Regional do Trabalho (DRT), Fundao Jorge Duprat Figueiredo de Segurana e
Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO), tem programas e aes para preveno de
acidentes do trabalho (http://www.abrasil.gov.br/avalppa/RelAvalPPA2002).
2.4 Sistema de Formas
A seguir ser feita uma descrio sobre sistemas de formas. As descries de todo
item 2.4 podem ser encontradas no endereo eletrnico (http://www.fundacentro.
gov.br/CTN/ noticias.asp?Cod=316-).
2.4.1 Definies
Formas so moldes provisrios utilizados para executar peas de concreto armado
ou protendido.
A definio de sistema de formas baseia-se na definio de sistema, que, por sua
vez, entendido como sendo a combinao de um conjunto de peas integradas, atendendo a
42
uma funo especfica. Portanto, sistema de formas consiste em um conjunto de componentes,
combinados em harmonia, com o objetivo de atender s funes de:
- Moldar o concreto;
- Conter o concreto fresco e sustent-lo at que tenha resistncia suficiente para
se sustentar por si s;
- Proporcionar superfcie do concreto a textura requerida;
- Servir de suporte para o posicionamento da armao, permitindo a colocao
de espaadores para garantir os cobrimentos;
- Servir de suporte para o posicionamento de elementos das instalaes e outros
itens embutidos;
- Servir de estrutura provisria para as atividades de armao e concretagem,
devendo resistir s cargas provenientes do seu peso prprio, alm das de
servio, tais como pessoas, equipamentos e materiais;
- Proteger o concreto novo contra choques mecnicos; e
- Limitar a perda de gua do concreto, facilitando a cura.
2.4.2 Caractersticas
A madeira foi o primeiro material de construo a ser utilizado tanto em colunas
como em vigas e vergas. Ela apresenta resistncia mecnica tanto a esforos de compresso
como aos esforos de trao na flexo. Tem resistncia mecnica elevada, superior ao
concreto, com a vantagem do peso prprio reduzido. Resiste excepcionalmente a choques e
esforos dinmicos: sua resistncia permite absorver impactos que romperiam ou
estilhaariam outros materiais. Apresenta boas caractersticas de isolamento trmico e
absoro acstica; seco, satisfatoriamente dieltrico; tem facilidade de afeioamento e
simplicidade de ligaes: pode ser trabalhado com ferramentas simples. Tem custo reduzido
de produo, reservas que podem ser renovadas e, quando convenientemente preservado,
perdura em vida til prolongada custa de insignificante manuteno. Em seu estado natural,
apresenta uma infinidade de padres estticos e decorativos.
43
Dimensionamento (para suportar o peso e a presso do concreto): Para execuo
das formas para moldagem das vigas e pilares de concreto armado, so utilizados tabuas de
pinus, com espessura de 2,5mm, pregadas umas nas outras com prego 17x 27mm, unidas
atravs de gravatas tambm da mesma madeira, e posteriormente escoradas com escoras de
eucalipto de 15cm de dimetro.
2.4.3 Classificao dos sistemas de formas para concreto
Os critrios para dividir os sistemas de formas baseiam-se, primeiramente, no
grupo de elementos estruturais a serem moldados e, em seguida, na modulao dos painis.
O primeiro critrio adotado pela sua amplitude, dividindo as formas em dois
grandes grupos: um formado por elementos verticais, abrangendo pilares e paredes; e outro,
por elementos horizontais, como vigas, lajes e escadas (estas ltimas, apesar de no serem
horizontais, possuem caractersticas de execuo e solicitaes que a encaixam nesse grupo).
O segundo critrio funo da diviso existente no mercado de formas: de um
lado, tm-se os sistemas modulares, compostos por mdulos pr-fabricados em metal ou
plstico, altamente industrializados e associados ao cimbramento menos intenso, e do outro,
os sistemas tramados, que possuem o vigamento ou travamento na forma de uma trama,
associados a painis sem padronizao dimensional, confeccionados especialmente para uma
determinada utilizao e com cimbramento considervel.
2.4.3.1 Formas para elementos verticais
Neste item, descrevem-se os sistemas de formas voltados para pilares e paredes de
concreto armado.
I - Sistema modular
44
Esse sistema caracterizado pela utilizao de painis modulares que possuem
estruturao prpria e so associados atravs de grampos ou clips. A estruturao pode ser de
ao, alumnio ou plstico, enquanto que o molde pode ser em chapa de compensado, plstico
ou ao.
um sistema com montagem e desmontagem rpidas e grande durabilidade dos
elementos, inclusive dos moldes, que, em funo de terem as bordas protegidas, tm maior
vida til.
Os painis possuem diversas dimenses padronizadas, facultando ao construtor a
opo de manuseio e montagem manuais, podendo utilizar elementos menores, ou a utilizao
de gruas ou guindastes, adotando painis maiores ou fazendo uma associao de painis
pequenos ganged panels
2
.
um sistema com grande potencial de racionalizao; no entanto, para o seu uso
adequado, exige uma coordenao modular da estrutura, pois, apesar da possibilidade de
combinao de painis de diferentes tamanhos, estes tm dimenses variando de cinco em
cinco cm ou 10 em 10 cm, a depender do fornecedor. Nesse caso, o usual ajustar-se a
estrutura ao sistema de formas.
bastante utilizado no exterior, principalmente como molde para paredes de
concreto; apesar disso, no Brasil, o seu uso ainda limitado por diversos motivos, entre eles: a
falta de coordenao modular nos projetos de edificaes, a pequena quantidade de
fornecedores desses sistemas, a falta de planejamento do sistema de formas desde a
concepo arquitetnica e a dificuldade de compatibilizao com as formas de vigas.
Diante disso, o potencial de racionalizao e reduo dos custos, atribudo ao
sistema, s verificado em poucos casos, fazendo com que o maior investimento no sistema
de formas no seja vantajoso, ainda que algumas construtoras, partindo para executar suas
estruturas de forma racionalizada, planejando e modulando os projetos, estejam tendo sucesso
com o sistema, reduzindo, potencialmente, os prazos e os custos a ela atribudos.
No caso das formas de pilares e paredes, o sistema tramado consiste na associao
de peas verticais e horizontais, em dois planos paralelos, compondo parte do travamento das
formas. Os elementos que compem a trama no so necessariamente do mesmo material ou
2
Conjunto de peas longitudinais e transversais que se cruzam.
45
da mesma forma, podendo ser de madeira (bruta ou industrializada) ou metlicos (de ao ou
alumnio).
Esse o sistema mais usado na construo civil nacional, sendo de domnio da
mo-de-obra. Caracteriza-se pela flexibilidade dimensional, versatilidade e relativa facilidade
para associar-se com formas de vigas e lajes.
De um modo geral, as tramas so de madeira, havendo, ainda, uma grande opo
por vigas de travamento metlicas nos planos mais distantes do molde.
Os painis podem ser produzidos na obra ou adquiridos de empresas que os
fabricam sob encomenda, caracterizando as formas industrializadas
3
.
3
O termo formas industrializadas associado s formas confeccionas em central externa ao canteiro, com o
objetivo de racionalizar a sua utilizao (referncia).
Muitas so as combinaes possveis entre os elementos do sistema, permitindo
ao construtor utilizar peas de diversos fornecedores simultaneamente. Dentro das muitas
possibilidades de associao dos diversos elementos, destacam-se algumas:
- Molde: podem ser utilizadas chapas de madeira compensada (resinada ou plastificada)
ou tbuas;
- Travamento: podem ser utilizados grades de madeira compostas por sarrafos e
pontaletes; sarrafos e pontaletes (no fixados ao molde); vigas de travamento
horizontais ou verticais, de madeira, ao, alumnio ou mistas (vigas sanduche);
tirantes metlicos (barras de ancoragem com porcas, tensores ou fios de ao
amarrados); sargentos metlicos; gravatas (de madeira, de ao ou mistas) etc.
- Mos-francesas: podem ser utilizados tbuas, sarrafos ou pontaletes de madeira;
cantoneiras metlicas; escoras metlicas (fixas ou com ajuste de comprimento).
Apesar da versatilidade e do uso mais intenso, esse sistema muitas vezes
caracterizado como tradicional, com uso intensivo da mo-de-obra, baixa mecanizao
(produo essencialmente manual) e com elevados desperdcios de mo-de-obra, material e
tempo. Essa caracterizao no de responsabilidade do sistema em si, que pode
perfeitamente ser utilizado de forma racional, mas sim da forma como tem sido utilizado em
muitas obras, sem planejamentos ou projetos, cabendo a pessoas despreparadas muitas
decises quanto sua confeco e montagem.
46
2.4.3.2 Formas para elementos horizontais
Neste item, descrevem-se os sistemas de formas para elementos horizontais.
I - Sistema Modular
Esse sistema muito semelhante ao aplicado em frmas para elementos verticais,
diferindo daquele quanto ao escoramento.
Os painis podem ser apoiados diretamente nas escoras ou utilizarem vigas
metlicas para transmitir os seus carregamentos s mesmas, podendo ainda utilizar torres
metlicas ao invs de escoras pontuais.
um sistema com restries quanto ao uso em estruturas reticuladas, pois a
existncia de vigas, na maioria das vezes, induz necessidade de se fazer arremates, em
virtude da falta de coordenao modular dos vos. Porm, bastante interessante para
estruturas com lajes planas, onde pode ser explorada toda a sua rapidez na execuo, sem que
haja interferncias.
Quando existente, a cabea descendente, acessrio colocado na parte superior da
escora, permite que as lajes sejam desformadas sem que haja necessidade de retirar o
escoramento, facilitando o servio e restringindo as deformaes do concreto novo.
O seu uso no Brasil, apesar de ainda ser pequeno, tem crescido bastante, sendo
usado em lajes planas e, em alguns casos, como suporte para os moldes plsticos de lajes
nervuradas.
II - Sistema Tramado
No caso das lajes, caracteriza-se pela trama composta por vigamento inferior e
superior. As escoras podem ser de madeira (industrializada ou serrada) ou metlicas (de ao
ou alumnio).
No caso das vigas, o sistema tramado basicamente o nico em uso e caracteriza-
se pelos painis laterais e de fundo estruturados com sarrafos, e pelas diversas formas de
travamento e escoramento. O travamento dos moldes pode ser feito com barras de ancoragem
ou tensores, sarrafos de presso, gastalhos de madeira, metlicos ou plsticos, mos-francesas
47
ou garfos de madeira; o escoramento pode ser feito com escoras pontuais com cruzetas, torre
metlica ou garfos de madeira.
o sistema mais empregado atualmente, sendo verstil e de fcil adaptao s
estruturas reticuladas, situao em que as vigas inibem um melhor aproveitamento de sistemas
modulares. Esse sistema pode ser utilizado como suporte para os moldes das formas para lajes
nervuradas, e o acoplamento e a fixao dos seus diversos elementos permitem a criao de
mesas voadoras, que podem ser transportadas entre os pavimentos, sem necessidade de
desmontar o conjunto.
2.4.4 Execuo de formas na operao com serra circular
O foco do trabalho na execuo de formas com utilizao de serra circular,
baseado nos procedimentos de segurana conforme NR18, item 18.7 a seguir descreve-se
sobre isso.
2.4.4.1 Descrio do Processo de Execuo de Formas
Procedimento de execuo do servio (http://www.cidades.gov.br/pbqp-
h/Apresentao.htm)
Os projetos de arquitetura e estrutura devem estar concludos e, se possvel,
providenciar um projeto de forma. O material deve estar disponvel, como chapas de
compensado, pontaletes, tbuas etc. A central deve estar montada e equipada.
Os painis devem ser executados pensando no seu tamanho e peso, de forma a
facilitar a montagem, o transporte e a desforma. Todas as peas devem ser galgadas e os
painis devem ser estruturados. Recomenda-se que as superfcies de corte sejam planas e
lisas, sem apresentar serrilhas; tambm conveniente neste momento identificar os painis
com uma numerao ou cdigo para facilitar na montagem.
Eventuais furos nos painis devem ser executados sempre da face interna da
forma em direo face externa, com broca de ao rpida para madeira.
48
A marcao das posies de cimbramento nas formas facilita o processo de
montagem. Assim, marcam-se nas formas as posies onde sero colocados os seus elementos
de sustentao como garfos simples, garfos com mo-francesa, escoramento e reescoramento.
Recomenda-se que os topos de chapas sejam selados com tinta a leo ou selante
base de borracha clorada, to logo as peas sejam serradas na bancada.
2.4.4.2 Procedimento de segurana a ser realizado
Na execuo de servios de formas com utilizao de serra circular essa deve ser
operada por trabalhador qualificado. A serra circular deve ser dotada de mesa estvel, com
fechamento de suas faces inferior, anterior e posterior, construda em madeira resistente e de
primeira qualidade, material metlico ou similar de resistncia equivalente, sem
irregularidades, com dimensionamento suficiente para a execuo das tarefas. Ter a carcaa
do motor aterrada eletricamente. O disco deve ser mantido afiado e travado, devendo ser
substitudo quando apresentar trincas, dentes quebrados ou empenamentos. As transmisses
de fora mecnica devem estar protegidas obrigatoriamente por anteparos fixos e resistentes,
no podendo ser removidos, em hiptese alguma, durante a execuo dos trabalhos. Ser
provida de coifa protetora do disco e cutelo divisor, com identificao do fabricante e ainda
coletor de serragem.
Nas operaes de corte de madeira deve ser utilizado dispositivo empurrador e
guia de alinhamento. As lmpadas de iluminao da carpintaria devem estar protegidas contra
impactos provenientes da projeo de partculas.
A carpintaria deve ter piso resistente, nivelado e antiderrapante, com cobertura
capaz de proteger os trabalhadores contra quedas de materiais e intempries.
Manter a central de produo constantemente limpa e organizada, removendo as
sobras de material (serragem e pontas de madeira) e verificando o funcionamento e a
conservao de ferramentas e equipamentos.
EPI necessrios para execuo de trabalhos com serra circular:
- Capacete de proteo;
49
- culos de segurana;
- Protetor auricular;
- Respirador purificador de ar;
- Luva de segurana (tipo vaqueta);
- Calado de segurana.
2.4.4.3 Preparao do Material
As formas devem ser construdas em madeira slida com superfcies lisas
preferencialmente de pinus ou compensado, livres de pregos, arames etc.
Toda madeira deve receber na superfcie de contato com o concreto, tratamento
com desmoldante para facilitar a desforma.
2.4.4.4 Elaborao das Formas
As formas devem ser construdas conforme especificao do projeto e sob
orientao do mestre e engenheiro de obra, depois de construdas, devem ser capazes de
confinar o concreto e mold-lo nas linhas, dimenses e juntas exigidas, assegurando a perfeita
aparncia das superfcies do concreto Alm disso, devem possuir resistncia suficiente para
suportar a presso resultante do lanamento e vibrao, como tambm devem ser mantidas
rigidamente em posio, e serem fixadas com firmeza para que no se abram e no permitam
desvios de argamassa nas juntas de construo no momento de se colocar o concreto.
2.4.4.5 Remoo das Formas
As formas devem ser removidas sempre aps os prazos necessrios sem golpes ou
vibraes excessivas, com toda a garantia de estabilidade e resistncia dos elementos
50
estruturais envolvidos. Ou seja, a desforma s se proceder quando a estrutura tiver a
resistncia necessria para suportar seu prprio peso e eventuais cargas adicionais.
2.4.4.6 Retiradas de Escoras
Em lajes, a retirada das escoras s pode ocorrer aps 21 dias da concretagem, ou
conforme determinao do engenheiro responsvel pela obra.
2.4.5 Analise dos Riscos dos Servios de Execuo de Formas com Serra Circular
Segundo Porto, (2000), a noo de risco tem haver com perda ou dano, ou como
sinnimo de perigo. Neste caso adotar-se- uma concepo abrangente de riscos de interesse
segurana e sade dos trabalhadores, significando toda e qualquer possibilidade de que algum
elemento ou circunstncia existente num dado processo ou ambiente de trabalho possa causar
dano sade, seja atravs de acidentes, doenas, sofrimento dos trabalhadores ou poluio
ambiental.
2.4.6 Riscos na operao da Serra Circular
Na execuo dos trabalhos com utilizao da serra circular alguns dos riscos a
seguir relacionados estaro sujeitos a ocorrerem.
a) Ruptura do disco de corte;
b) Contato das mos com o disco de corte;
c) Emisso de partculas e poeiras;
d) Barulho excessivo;
e) Choque eltrico;
51
f) Principio de incndio, queimaduras.
2.4.7 Causas dos riscos na operao da Serra Circular
As causas de ocorrerem os riscos relacionados no item 2.4.6 esto a seguir
relacionadas.
a) Disco montado errado, fora de especificaes prprias, defeituoso;
b) Ausncia ou proteo inadequada, corte de materiais no apropriados;
c) Ausncia ou sistema de exausto inadequado;
d) Serra mal balanceada;
e) Contato com partes energizadas, falta de isolamento e aterramento;
f) Presena de material inflamvel.
2.4.8 Medidas Preventivas
Os seguintes procedimentos devero ser adotados para preveno de acidentes:
a) Montar disco dentro das especificaes e em bom estado;
b) Operao com a mxima ateno, com operador habilitado e materiais especficos para
o corte;
c) Utilizao de protetor facial ou culos de proteo e verificao da existncia de
protetor (capa) do disco de corte;
d) Alm da obrigatoriedade da utilizao do protetor auricular, instalar um dispositivo que
consiste em fixar sobre a mesa um painel, com compensado, paralelamente lmina a 1
mm desta;
e) Instalaes eltricas adequadas, com aterramento da serra policorte. Proteo das partes
inferiores da bancada da serra eltrica, com calha para depsito do subproduto e tambm
com comando liga / desliga por meio de botoeira (duplo isolamento);
52
f) Instalao de extintor de incndio do tipo CO2 prximo mesa, como medida de
preveno e combate a incndio; Manuteno do canteiro de obras organizado.
2.5 Anlise de Riscos
Embasados no item 2.3.1.3, risco a probabilidade de ocorrncia de um evento
perigoso que cause danos aos trabalhadores ou equipamentos, denominado acidente, cujo
trata-se de um acontecimento inesperado, que vem causar danos, leses, doenas, ferimentos,
danos humanos ou materiais, danos temporrios ou permanentes, a gravidade das
conseqncias dos acidentes muito varivel.
Para efetuar uma analise de riscos necessrio conhecer de maneira plena todo o
processo e de que maneira os trabalhadores executam os servios ou operam equipamentos,
alm disso para manter a imparcialidade da analise de riscos, fundamental organizar uma
equipe com vrios profissionais das diversas reas e setores que envolvem o processo, sendo
formada por tcnicos, engenheiros de projeto e de execuo, pessoal de recursos humanos,
engenheiros e tcnicos de segurana, etc. A equipe de analise precisa alem de acompanhar e
entender todo o processo, ouvir os trabalhadores, e tambm, aliar todos os pontos de vistas
para chegar a um consenso e uma viso imparcial, critica e eficaz dos riscos existentes nos
processos analisados. (professores.unisanta.br/valneo/apoio/ tecnicasdeanalisederisco.doc).
2.5.1 Principais tcnicas de anlise de riscos
Tcnicas de anlise de riscos nada mais so que mtodos capazes de fornecer
elementos concretos que fundamentam um processo de deciso de reduo de riscos e perdas.
So metodologias oriundas de duas reas: engenharia de segurana de sistemas e engenharia
de processos. As tcnicas possuem grande generalidade e abrangncias, podendo ser aplicadas
a quaisquer situaes produtivas (FANTAZZINI, 1994).
53
A seguir sero apresentadas algumas das principais tcnicas de anlise de riscos. Os
conceitos apresentados tiveram como fonte o site (professores.unisanta.br/
valneo/apoio/tecnicasdeanalisederisco.doc):
- Tcnicas de Identificao de perigos
What-if
Check List - Lista de verificaes
- Tcnicas de Anlise de Riscos
APR - Anlise Preliminar de Riscos
AMFE - Anlise de Modos de Falha e Efeitos
HAZOP - Estudo de Risco e Operabilidade
- Tcnicas Avaliao de Riscos
AAF Anlise de rvore de Falhas
2.5.1.1 Objetivos das Tcnicas de Anlise de Riscos
O conforto e desenvolvimento trazidos pela industrializao produziram tambm
um aumento considervel no nmero de acidentes, ou ainda das anormalidades durante um
processo devido obsolescncia de equipamentos, mquinas cada vez mais sofisticadas etc.
Com a preocupao e a necessidade de dar maior ateno ao ser humano, principal bem de
uma organizao, alm de buscar uma maior eficincia, nasceram primeiramente o Controle
de Danos, o Controle Total de Perdas e por ltimo a Engenharia de Segurana de Sistemas.
Com o crescimento e necessidade de segurana surgiram s tcnicas de anlises
de riscos, valiosos instrumentos para a soluo de problemas ligados segurana, portanto, o
54
objetivo de se realizar uma tcnica de anlise de riscos permitir um conhecimento detalhado
sobre dos riscos atuais de um objeto (processo, mquina, sistema ou subsistema), e
desencadear um processo de planejamento, construo, operao, e controle apropriado para
minimizar antecipadamente riscos.
A Anlise de Riscos consiste no exame sistemtico de uma instalao industrial
(projeto ou existente) de sorte a se identificar os riscos presentes no sistema e formar opinio
sobre ocorrncias potencialmente perigosas e suas possveis conseqncias (SOUZA,1995).
O objetivo de se realizar uma tcnica de anlise de riscos permitir um conhecimento
detalhado sobre os riscos atuais de um objeto (processo, mquina, sistema ou subsistema), e
desencadear um processo de planejamento, construo, operao, e controle apropriado para
minimizar antecipadamente riscos.
2.5.1.2 Aplicao das tcnicas de anlise de riscos
Com a difuso dos conceitos de perigo, risco e confiabilidade, as metodologias e
tcnicas aplicadas pela segurana de sistemas, inicialmente utilizadas somente nas reas
militar e espacial, tiveram a partir da dcada de 70 uma aplicao quase que universal na
soluo de problemas de engenharia em geral.
2.5.2 Tcnicas de identificao de perigos
2.5.2.1 What-if
Esta uma tcnica de anlise qualitativa, com aplicao bastante simples e til na
deteco de riscos, tanto na fase de processo, projeto ou pr-operacional, e pode ser
utilizada em qualquer estgio da vida de um processo. O objeto do What-If
proceder identificao e tratamento de riscos que pode ser testado possveis
omisses no sistema. (CARDELLA, 1999).Da aplicao do What-if resultam a
elaborao de questes sobre a possibilidade de ocorrncia de eventos indesejveis,
55
bem como a gerao de solues para as possveis ocorrncias de eventos
indesejveis levantados. O conceito da anlise What-if estimula a equipe de anlise
de risco a refletir sobre questes que comeam com E se...; O que aconteceria
se...; O que acontece se... ( professores. unisanta.br/valneo/ apoio/tcnicasde
analisederisco.doc).
2.5.2.2 Check-list
Para efetuar o levantamento dos riscos atravs de um check-list, segundo Souza
(1995), lista-se alguns itens com relevada importncia ou lista-se passos dos processos em
analise, aps esta etapa elabora-se as concluses de cada item ou passo do check-list.
Os check-list, so de grande utilidade para checar e vistoriar itens de
procedimentos padronizados sendo estes relacionados a segurana do trabalho ou mesmo para
a manuteno de equipamentos. De acordo com Souza (1995), outra utilizao importante se
d aps a analise de outras tcnicas de analise de risco, os resultados podem ser transformados
em itens de um check-list para inspeo das atividades ou processo.
Segundo Cardella (1999), a desvantagem da analise se ater ao check-list que os
itens ou passos no lembrados nos check-list, no sero analisados, ficando comprometida a
analise dependendo da importncia no processo do item no lembrado no check-list.
2.5.3 Tcnicas de Anlise de Riscos
2.5.3.1 Anlise Preliminar de Riscos (APR) - Preliminary Hazard Analysis (PHA)
Tambm chamada de Anlise Preliminar de Perigos (APP).
A Anlise Preliminar de Riscos (APR) teve origem na rea militar com aplicao
inicial na reviso de sistemas de msseis. Tem como objetivo determinar os riscos e
medidas preventivas antes que um processo, sistema ou produto entrem em sua fase
operacional, sendo aplicada na fase de projeto e desenvolvimento. Tudo o que
puder ser identificado como risco de acidente ou de doena ocupacional nesta fase
deve merecer ateno, para que medidas preventivas adequadas possam ser
tomadas e evitar que riscos venham a ser criado nos ambientes de trabalho
56
(ZOCCHIO 2000). Destaca-se na anlise de novos sistemas, sistemas de alta
tecnologia e/ou pouco conhecidos, ou seja, para casos onde h pouca experincia
ou carncia de informaes na sua operao.
Alberton (1996).
A APR tambm pode ser til como: ferramenta de reviso geral de segurana em
sistemas operacionais, revelando aspectos que s vezes passam desapercebidos; em
instalaes existentes de grandes dimenses; e, quando se quer evitar a utilizao
de tcnicas mais extensas para a priorizao de riscos. Esta tcnica normalmente
utilizada para anlises qualitativas, porm, tambm pode-se utiliz-la para
identificar cenrios de acidentes que sero empregados em estudo de anlises
quantitativas para a obteno de ndices de risco.
De Cicco e Fantazzini (1982)
Na tabela 7 apresenta-se o modelo de formulrio apresentado no Livro Introduo
a Engenharia de Segurana de Sistemas (De Cicco, Fantazzini, 1994) para a elaborao de
Anlise Preliminar de Risco e que foi o utilizado no estudo de caso.
Tabela 7 - Modelo de formulrio para Anlise Preliminar de Riscos
Anlise Preliminar de Riscos
Identificao do Sistema:
Subsistema: Projetista:
Risco Causas Efeitos Categoria do
Risco
Medidas Preventivas ou
Corretivas
Fonte: De Cicco e Fantazzini (1994)
Segundo De Cicco e Fantazzini (1994), o desenvolvimento de uma APR necessita
dos seguintes procedimentos:
a) Definio do grupo que participar da anlise;
b) Subdiviso da instalao em diversos subsistemas;
c) Definio das fronteiras do sistema e de cada subsistema;
d) Determinao dos produtos e atividades com possibilidades de gerar acidentes;
57
e) Realizao da APR propriamente dita: preenchimento das planilhas de APR em
reunies do grupo de anlises;
f) Elaborao do relatrio final; e,
g) Acompanhamento da implementao das recomendaes.
Aps a identificao dos cenrios de acidentes, estes so classificados de forma
qualitativa segundo sua severidade, conforme identificadas na tabela 8 a seguir.
Tabela 8 Categoria de severidade dos cenrios utilizados em APR
Categoria Denominao Descrio/Caractersticas
I Desprezvel A falha no ir resultar em uma degradao maior do
sistema, nem ir produzir danos funcionais ou leses, ou
contribuir com risco ao sistema.
II Marginal
(ou Limtrofe)
A falha ir degradar os sistema em uma certa extenso,
porm sem envolver danos maiores ou leses, podendo ser
compensada ou controlada adequadamente.
III Crtica A falha ir degradar o sistema causando leses, danos
substanciais, ou ir resultar em um risco inaceitvel,
necessitando aes corretivas imediatas.
IV Catastrfica A falha ir produzir severa degradao do sistema, resultando
em sua perda total, leses ou morte.
Fonte: De Cicco e Fantazzini (1994)
Esta classificao servir de parmetro para as pessoas envolvidas na elaborao
da APR a fazerem uma classificao dos riscos, qualificando-os conforme o seu grau de
intensidade. Os envolvidos devero priorizar e propor medidas preventivas com o objetivo de
neutralizar os riscos identificados.
2.5.3.2 Anlise de Operabilidade de Perigos - Hazard and Operability Studies (HAZOP)
A tcnica Hazard and Operability Study (HAZOP) foi desenvolvida pela Imperial
Chemical Industries (ICI) no Reino Unido no incio de 1970, inicialmente para
identificar e avaliar a segurana em plantas de processo e problemas de
operabilidade, que embora no perigosos, poderiam comprometer a capacidade da
planta para alcanar a produtividade estipulada em projeto. Sua essncia uma
reviso dos desenhos dos processos e/ou procedimentos numa srie de reunies,
58
durante a qual, a equipe utiliza um protocolo pr-estabelecido para avaliar
metodicamente os significantes desvios da inteno normal do projeto.
O estudo de HAZOP muito indicado antes mesmo da fase de detalhamento e
construo do projeto, evitando com isso, que modificaes tenham que ser feitas,
principalmente, nas instalaes j montadas, quando o custo para tal alterao
muito superior aquele de projeto. A Anlise de Riscos e Operabilidade HAZOP
baseada no princpio de que diversos especialistas com diferentes conhecimentos
podem interagir de forma criativa e sistemtica, identificando uma maior
quantidade de cenrios em conjunto do que quando trabalhando separadamente.
Segundo Alberton (1996), trata-se de uma ferramenta que permite que as pessoas
liberem sua imaginao, pensando em todos os modos pelos quais um evento
indesejado ou problema operacional possa ocorrer.
Lopes (1998)
Esta tcnica orientada atravs de um conjunto de palavras -guias, que focaliza
os desvios dos parmetros estabelecidos para o processo ou operao em anlise. As palavras-
guias mais comumente utilizadas esto apresentadas na tabela 9.
Tabela 9 Palavras-guia do estudo HAZOP e respectivos desvios
Palavra-guia Desvio
Nenhum
Ausncia de fluxo ou fluxo reverso. A completa negao das
intenes do projeto.
Mais Aumento quantitativo de uma propriedade fsica relevante.
Menos Diminuio quantitativa de uma propriedade fsica relevante.
Mudanas na
Composio
Alguns componentes em maior ou menor proporo, ou ainda, um
componente faltando.
Componentes a mais Componentes a mais em relao aos que deveriam existir.
Outra condio
Operacional
Partida, parada, funcionamento em carga reduzida, modo
alternativo de operao, manuteno, mudana de catalisador, etc.
Substituio completa.
Fonte: KLETZ (1984)
Na tabela 10 apresenta-se um modelo de relatrio para o estudo HAZOP.
59
Tabela 10 Modelo de relatrio para um estudo HAZOP
Palavra-Guia Desvio Causas
Possveis
Conseqncias Aes
Requeridas
Fonte: KLETZ (1984)
2.5.3.3 Anlise de Modos de Falha e Efeitos (AMFE) - Failure Modes and Effects
Analysis (FMEA)
A Anlise de Modos de Falha e Efeitos (AMFE), tambm conhecida pela sigla
FMEA (Failure Modes and Effects Analysis), uma tcnica de anlise de riscos de uso geral,
detalhada, qualitativa ou quantitativa. Segundo De Cicco (1994), esta tcnica permite analisar
as maneiras pelas quais um equipamento, componente ou sistema podem falhar. Permite
tambm, estimar as taxas de falhas e os efeitos que podero advir, e, estabelecer as mudanas
que devero ser feitas para aumentar a probabilidade de que o sistema ou equipamento
funcione satisfatoriamente (DE CICCO e FANTAZZINI 1994).
A AMFE uma ferramenta poderosa que nasceu dentro da Indstria da
Aeronutica para buscar a confiabilidade das aeronaves. A AMFE uma metodologia
sistemtica para identificar os modos de falha do sistema para buscar aes pr-ativas para
prevenir a falha ou diminuir seus efeitos. Foi desenvolvido inicialmente para a melhoria da
confiabilidade dos sistemas e tambm tem sido largamente utilizado para a melhoria dos
processos e da qualidade dos produtos. O objeto da AMFE so os sistemas. O foco so os
componentes e suas falhas (CARDELLA, 1999). Os principais objetivos da AMFE so: uma
reviso sistemtica dos modos de falha de um componente para garantir danos mnimos ao
sistema; determinao dos efeitos que tais falhas tero em outros componentes do sistema;
determinao dos componentes cujas falhas teriam efeito crtico na operao do sistema
(falhas de efeito crtico); clculo de probabilidade de falha de componentes, montagem e
subsistemas, atravs do uso de componentes com confiabilidade alta, redundncias no projeto
ou ambos (DE CICCO e FANTAZZINI, 1994).
Geralmente, uma AMFE utilizada em primeiro lugar de uma forma qualitativa,
quer na reviso sistemtica dos modos de falha do componente, na determinao de seus
60
efeitos em outros componentes e ainda na determinao dos componentes cujas falhas tm
efeito crtico na operao do sistema, sempre procurando garantir danos mnimos ao sistema
como um todo. Na maioria das vezes, no so considerados nesta anlise os efeitos das falhas
humanas sobre o sistema. Numa etapa seguinte, pode-se aplicar tambm dados quantitativos,
a fim de se estabelecer uma confiabilidade ou probabilidade de falha do sistema ou
subsistema (ALBERTON,1996).
Conhecido o sistema e suas especificidades, pode-se dar seguimento anlise,
cabendo empresa idealizar o modelo que melhor se adapte a ela. A tabela 11 mostra
esquematicamente um modelo para aplicao da AMFE.
Tabela 11 Modelo de Aplicao de uma AMFE
Item
Modo
de
Falha
Causa
de
Falha
Efeitos:
-nos
componentes
-no sistema
Categoria
de
Risco
Probabilidade
de
Ocorrncia
Mtodos
de
Deteco
Aes
Possveis
Fonte: Hammer (1993)
A metodologia da AMFE pode ser aplicada de acordo com a seqncia sugerida
por De Cicco e Fantazzini (1994), conformedescritoaseguir:
a) Dividir o sistema em subsistemas que podem ser efetivamente controlados;
b) Traar diagramas de blocos funcionais do sistema e subsistemas, para determinar seus
inter-relacionamentos e de seus componentes;
c) Preparar uma listagem dos componentes de cada subsistema e registrar a funo
especfica de cada um deles;
d) Determinar atravs da anlise de projetos e diagramas, os modos de falha que possam
ocorrer e afetar cada componente. Devero ser considerados quatro modos de falha:
operao prematura; falha em operar num tempo prescrito; falha em cessar de operar
num tempo prescrito; falha durante a operao;
A probabilidade de falha do sistema ou subsistema ser, igual probabilidade
total de todos os modos de falha. Quando da determinao de probabilidades de acidentes,
61
devero ser eliminadas todas as taxas de falhas relativas aos modos de falha que no
geram acidentes.
e) Indicar os efeitos de cada falha especfica sobre outros componentes do subsistema e
como cada afeta o desempenho total do subsistema em relao misso do mesmo;
f) Estimar a gravidade de cada falha especfica de acordo com as categorias ou classes de
risco, conforme j mencionadas na tabela 8;
A estimativa das taxas de cada falha poder ser feita,entre outros modos, atravs
de taxas genricas desenvolvidas a partir de testes realizados pelos fabricantes dos
componentes; pela comparao com equipamentos ou sistemas similares; com o auxilio de
dados de engenharia.
g) Indicar os mtodos de deteco de cada falha especfica;
h) Formular possveis aes de compensao e reparos que podem ser adotadas para
eliminar ou controlar cada falha especfica e seus efeitos;
i) Determinar as probabilidades de ocorrncia de cada falha especfica para possibilitar a
anlise quantitativa.
A AMFE muito eficiente quando aplicada a sistemas mais simples e falhas
singelas. Suas inadequaes levaram ao desenvolvimento de outros mtodos,tais como a
Anlise de rvores de Falhas (AAF), que a completa e que ser abordada no item 2.5.4.1
(DE CICCO e FANTAZZINI, 1994).
Assim como a APR, a AMFE tambm deve ter um formulrio onde sero
efetuados os registros dos componentes, seus modos de falha, meios de deteco,
conseqncias e medidas que podero ser adotadas para controle de riscos e de emergncias.
A tabela 12 a seguir, apresenta um modelo de formulrio aplicado na AMFE e o qual ser
utilizado no estudo de caso.
62
Tabela 12 - Modelo de formulrio para AMFE
Folha N:
AMFE
Anlise de Modos de Falha e Efeitos
Data:
Empresa:
Sistema: Elaborada por:
Possveis Efeitos Componentes Modos
de
Falha
Em outros
componentes
No sistema
Categ. de
Risco
Mtodos de
Deteco
Ao de
Compensao e
Reparos
Fonte: De Cicco e Fantazzini (1994)
2.5.4 Tcnicas Avaliao de Riscos
2.5.4.1 Anlise de rvore de Falhas (AAF) - Fault Tree Analysis (FTA)
A Anlise de rvores de Falhas foi desenvolvida, m 1962, pelos Laboratrios Bell
Telephone, a pedido da Fora Area Americana, para uso no sistema do mssil
balstico intercontinental Minuteman. De acordo com Oliveira e Makaron (1987), a
AAF uma tcnica dedutiva que permite aos analistas de riscos focar em um
acidente particular e fornece um mtodo para determinar as causas deste acidente.
A rvore de Falhas um modelo grfico, baseado na aplicao de princpios da
lgebra Booleana (utilizao de portas lgicas do tipo E ou OU), que exibe as
vrias combinaes de falhas de equipamentos e erros humanos que podem resultar
na principal falha do sistema de interesse, chamado de evento Topo (ou Top). As
combinaes seqenciais destes eventos formam os diversos ramos da rvore.
De Cicco e Fantazzini (1994)
Essa designao se justifica em virtude da utilizao desse evento no nvel mais
alto da rvore de falhas, que tem representao grfica; os eventos de nvel inferior
recebem o nome de eventos bsicos ou primrios, pois a partir deles que se
originam os eventos de nvel mais alto. Esse modelo permite aos analistas de riscos
focar medidas preventivas ou mitigadoras nas causas bsicas e significativas,
reduzindo assim, a possibilidade de ocorrncia de um acidente. Portanto, certo
supor que a rvore de falhas um diagrama que mostra a inter-relao lgica entre
estas causas bsicas e o acidente.
Oliveira e Makaron (1987)
63
Na figura 1 segue a estrutura bsica de construo de uma rvore de falhas
sintetizada por De Cicco e Fantazzini (1994).
Figura 1 - Estrutura fundamental de uma AMFE
Fonte: Henley e Kumamoto (1981)
De acordo com De Cicco e Fantazzini (1994), o mtodo da AAF pode ser
desenvolvido atravs dos seguintes passos:
a) Seleo do evento indesejvel ou falha, cuja probabilidade de ocorrncia deve ser
determinada;
b) Reviso dos fatores intervenientes, como ambiente, dados de projeto, exigncias
do sistema, etc., determinando as condies, eventos particulares ou falhas que
poderiam contribuir para a ocorrncia do evento indesejado;
c) preparada uma rvore, atravs da diagramao dos eventos contribuintes e
falhas, de modo sistemtico, que ir mostrar o inter-relacionamento entre os mesmos
e em relao ao evento topo. O processo se inicia com os eventos que poderiam,
diretamente causar tal fato, formando o primeiro nvel. medida que se retrocede
passo a passo, as combinaes de eventos e falhas contribuintes iro sendo
adicionadas. Os diagramas assim preparados so chamados rvore de falhas. O
relacionamento entre os eventos feito atravs das comportas lgicas;
64
d) Atravs de lgebra Booleana so desenvolvidas as expresses matemticas
adequadas, representando as entradas das rvores de falhas. Cada comporta lgica tem
implcita uma operao matemtica e estas podem ser traduzidas em ltima anlise
por aes de adio ou multiplicao;
e) Determinao da probabilidade de falha de cada componente, ou a probabilidade
de ocorrncia de cada condio ou evento presentes na equao simplificada. Esses
dados podem ser obtidos de tabelas especficas, dados dos fabricantes, experincia
anterior, comparao com equipamentos similares, ou ainda obtidos
experimentalmente para o especfico sistema em estudo;
f) As probabilidades so aplicadas expresso simplificada, calculando-se a
probabilidade de ocorrncia do evento indesejvel investigado.
A AAF no capaz de levantar dados quantitativos precisos, entretanto, mesmo
sendo aplicada ao seu nvel de menor complexidade, a tcnica propicia um grande numero de
informaes e analise do sistema global, ou analise do processo em questo, fazendo que a
equipe de analistas tenha uma viso clara e real, para posteriormente propor medidas de
atuao para a situao desejada.
Dentre as aplicaes da AAF do uso do mtodo de falhas podemos citar: para
determinar a situao mais critica, o evento que mais ocorreu, as falhas irrelevantes, as falhas
de maior importncia, identificar elementos que causam contratempos.
A AAF so divididas em subsistemas e analisados de forma independente, passo a
passo.
A simbologia lgica de uma rvore de falhas descrita na figura 2.
65
Figura 2 - Simbologia lgica de uma rvore de falha
Fonte: http://www.eps.ufsc.br/disserta96/anete/cap5/cap5_ane.htm
A tabela 13 transcrito de Hammer (1993), representa algumas das definies de
lgebra booleana associadas aos smbolos usados na anlise quantitativa da rvore de falhas.
Em complemento, a tabela 14 apresenta as leis e fundamentos matemticos da lgebra de
Boole.
66
Tabela 13 - lgebra booleana e simbologia usada na rvore de falhas
Mdulo Smbolo Explicao
Tabela
Verdade
OR
(OU)
O mdulo OR indica que quando uma ou mais
das entradas ou condies determinantes
estiverem presentes, a proposio ser
verdadeira (V) e resultar uma sada. Ao
contrrio, a proposio ser falsa (F) se, e
somente se, nenhuma das condies estiver
presente
A0011 +
B0101
0 (F)
1 (V)
1 (V)
1 (V)
AND (E)
O mdulo AND indica que todas as entradas ou
condies determinantes devem estar presentes
para que uma proposio seja verdadeira (V). Se
uma das condies ou entradas estiver faltando,
a proposio ser falsa (F).
A0011*
B0101
0 (F)
0 (F)
0 (F)
1 (V)
NOR (NOU)
O mdulo NOR pode ser considerado um estado
NO-OR (NO-OU). Indica que, quando uma ou
mais entradas estiverem presentes, a proposio
ser falsa (F) e no haver sada. Quando
nenhuma das entradas estiver presente, resultar
uma sada.
A0011 +
B0101
1 (V)
0 (F)
0 (F)
0 (F)
NAND (NE)
O mdulo NAND indica que, quando uma ou
mais das entradas ou condies determinantes
no estiverem presentes, a proposio ser
verdadeira (V) e haver uma sada. Quando
todas as entradas estiverem presentes, a
proposio ser falsa (F) e no haver sada.
A0011*
B0101
1 (V)
1 (V)
1 (V)
0 (F)
Fonte: Hammer (1993)
67
Tabela 14 - Relacionamento e leis representativas da lgebra de Boole
RELACIONAMENTO LEI
A . 1 = A
A . 0 = 0
A + 0 = A
A + 1 = 1
Conjuntos complementos ou vazios
(Ac)c = A Lei de involuo
A . Ac = 0
A + Ac = 1
Relaes complementares
A . A = A
A + A = A
Leis de idempontncia
A . B = B . A
A + B = B + A
Leis comutativas
A . (B . C) = (A . B) . C
A + (B + C) = (A + B) + C
Leis associativas
A . (B + C) = (A . B) + (A . C)
A + (B . C) = (A + B) . (A + C)
Leis distributivas
A . (A + B) = A
A + (A . B) = A
Leis de absoro
(A . B)c = Ac + Bc
(A + B)c = Ac . Bc
Leis de dualizao ( Leis de Morgan)
Fonte: Hammer (1993)
Desta forma, para a rvore de falhas representada na figura 3 as probabilidades
dos eventos, calculadas obedecendo-se s determinaes das comportas lgicas, resultam em:
E = A intersec. D
D = B unio C
E = A intersec. B unio C
P(E) = P(A intersec. B unio C)
68
Figura 3 - Esquema de uma rvore de falhas
Fonte: http://www.eps.ufsc.br/disserta96/anete/cap5/cap5_ane.htm
69
CAPTULO III
3 ESTUDO DE CASO
3.1 Estudo de Caso
Este estudo de caso vem a complementar e aplicar os conhecimentos adquiridos
na pesquisa bibliogrfica realizada. Procurou-se buscar um exemplo prtico a fim de aplicar
as tcnicas de risco APR e AMFE em uma serra circular.
O motivo da escolha da aplicao da APR deve-se ao fato de ser uma anlise
preliminar, como o prprio nome j diz uma anlise inicial, de partida e de origem qualitativa.
Apesar de seu escopo bsico de anlise inicial, muito til como reviso geral de segurana
em sistemas operacionais revelando aspectos, s vezes, despercebidos (FANTAZZINI, 1994).
J a AMFE trata-se de uma anlise mais detalhada, aplicada diretamente falha
em equipamentos. Pode ser avaliada quantitativamente tambm, porm, neste trabalho ser
abordado somente o estudo qualitativo. Esta tcnica de grande utilidade para aumentar a
confiabilidade de equipamentos e sistemas atravs do tratamento de componentes crticos
(FANTAZZINI, 1994).
O objeto do estudo de caso, que caracterizar e levantar os riscos nos servios de
execuo de formas realizados com serra circular, ser realizado na Obra do Residencial
Jardim di banos. Trata-se de um Condomnio Residencial construdo na cidade de Cricima.
O empreendimento foi lanado e est sendo vendido pela prpria construtora. A
parceria entre a Construtora e Caixa Econmica Federal permite ao cliente um financiamento
diferenciado, denominado de Imvel na planta com recursos do FGTS.
O condomnio composto por 11 Casas Geminadas (denominadas de 1 a 11),
sendo que as casas n 01, 02 e 07, compostas por 02 pavimentos com rea de 71,16m. No
pavimento trreo tem-se: sala de estar/ jantar, cozinha, rea de servio, varada, churrasqueira
e banheiro social, sendo que no pavimento superior tem-se: 02 dormitrios e 01 banheiro.
As casas n 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10 e 11 so compostas tambm por 02
pavimentos com rea de 96,20m. No pavimento trreo tem-se: sala estar/jantar, cozinha, rea
70
de servio, varanda, churrasqueira e banheiro social, sendo que no pavimento superior tem-se:
02 dormitrios, e 01 sute com sacada.
A rea real global construda de 983,08m, como descrito na figura 4.
Figura 4 - Quadro de reas do Residencial Jardim di banos
Fonte: Construto Nunes, 2006.
Casa n rea Privada
(m2)
rea Comum
(m2)
rea
Construda
Terreno
(m2)
% Terreno
01 71,16 0,00 71,16 127,01 8,75%
02 71,16 0,00 71,16 91,53 6,30%
03 96,20 0,00 96,20 131,08 9,026%
04 96,20 0,00 96,20 132,66 9,136%
05 96,20 0,00 96,20 132,66 9,136%
06 96,20 0,00 96,20 131,08 9,026%
07 71,16 0,00 71,16 91,53 6,30%
08 96,20 0,00 96,20 132,88 9,15%
09 96,20 0,00 96,20 132,88 9,15%
10 96,20 0,00 96,20 131,08 9,026%
11 96,20 0,00 96,20 217,86 15,00%
Totais 983,08 983,08 1.452,27 100%
,7/2/ A -,348
# 08/03.,
Rua Juceli Rodrigues
Bairro Jardim Maristela Cricima / SC
71
3.2 Histrico da Empresa
A CONSTRUTORA NUNES LTDA, sediada na cidade de Cricima Santa
Catarina, a primeira construtora na cidade a ser certificada pelo Programa Brasileiro de
Qualidade e Produtividade no Habitat (PBQP-H) nvel A.
A empresa atua a 22 anos na rea de construo civil. Fundada em maio de 1985,
primeiramente se dedicava apenas a executar obras residenciais. Ao longo dos anos com
significativo crescimento e esprito empreendedor, a empresa conquistou espao em outros
setores da construo como: edificaes, pavimentao, drenagem, terraplenagem,
manuteno, coleta de lixo e limpeza urbana, executando obras e prestando servios para
rgos pblicos e empresas privadas.
Em dezembro de 2005, a empresa atingiu uma nova meta, que foi a instalao da
Britagem de Seixo em Rio Cedro Nova Veneza, para comercializao de materiais diversos
de seixo britado (brita, base de brita graduada, base parcialmente britada, seixo bruto rolado,
bica corrida, macadame seco, entre outros).
Atualmente, a empresa presta servios de limpeza urbana, est construindo o
Residencial Jardim di banos, como tambm comercializa materiais da britagem de seixo,
contando com cerca de 100 empregados.
3.3 Procedimentos Metodolgicos
Os Procedimentos metodolgicos para realizao deste trabalho constituram-se
em primeiramente contato e conhecimento da empresa, do empreendimento e do tipo de
servio analisado. Aps este contato foi realizada visita in loco ao canteiro de obras do
Residencial jardim di banos, a fim de analisar como era realizado o servio de execuo de
forma e analise tcnica do equipamento se rra circular.
Posteriormente verificou-se as ocorrncias de acidentes, e atravs das tcnicas de
anlise de risco foram analisados outros aspectos referentes a ocorrncia de acidentes com
trabalho de execuo de forma em serra circular.
72
3.4 Fluxograma de Execuo de Formas
Na figura 5 pode-se acompanhar o fluxograma do processo da atividade execuo
de formas.
Figura 5 - Fluxograma do processo de Execuo de Formas
Fonte: IT 005 (PBQP-H Construtora Nunes)
Preparar
Material
Elaborar
Formas
(2)
Inspecionar
Atividade
Concretar
Estruturas
Aguardar
Cura
Do Concreto
Fim
Remover
Formas e
Escoras
73
3.5 Mtodo
Como mtodo utilizar-se- as tcnicas de analise de risco, aplicadas
respectivamente conforme suas caractersticas e metodologias.
3.5.1 Metodologia de implantao das Tcnicas APR e AMFE
No estudo de caso foi escolhido o tipo de servio e o equipamento serra circular,
descreveu-se as atividades e operaes envolvidas no processo de execuo de forma, como
demonstra a figura 6 em forma de fluxograma.
Figura 6 - Etapa para implantao APR e AMFE.
Fonte: Deise Nunes e Rosilda Souza, 2007
(1)
Escolha do servio e do
Equipamento Serra Circular
(2)
Estudo do servio de Execuo de Forma
e da Serra Circular
(3)
Adaptao dos Formulrios para
Aplicao das tcnicas
(4)
Aplicao da Tcnica APR
(5)
Aplicao da
Tcnica AMFE
(6)
Desenvolvimento
da Tcnica APR
(7)
Desenvolvimento da AMFE
AMFE AMFE Tcnica
FMEA
74
3.6 Serra circular na execuo de formas
Conforme mencionada anteriormente, a empresa confecciona formas para
execuo de concreto armado, atravs da utilizao de serra circular, descrito no item 2.
A Serra Circular de Mesa, formada por um disco de videa com 32 dentes, uma
coifa protetora, cutelo divisor ou lamina separadora, um motor trifsico de potncia 1 HP,
uma polia, uma correia e uma chave de acionamento liga/desliga.
3.7 Identificao de riscos na serra circular a serem observados in loco
Atravs de Anlise in loco dos servios de execuo de forma com a utilizao
da serra circular, e referencias bibliogrfica, identificou-se os riscos preliminares, para
posterior aplicao das tcnicas de analise de risco mencionadas anteriormente.
Neste item 3.7, identificar-se- os itens a serem observados, se h existncia ou
no dos riscos identificados na obra objeto deste estudo de caso.
3.7.1 Retrocesso da madeira
O retrocesso da madeira pode ocorrer devido, a ns e rachaduras existentes na
prpria madeira, que ficam engalhados na serra.
Figura 7 - Tbua de pinus com ns e rachaduras
Fonte: www.saudetrabalho.com.br
75
3.7.2 Dentes ou videas quebrados ou trincados
Os dentes ou videas da serra devem estar em perfeito estado de conservao,
dentes do disco quebrados, trincados ou desafiados, podem engalhar na madeira, fazendo o
operador perder o controle, puxando a mo do mesmo em direo ao disco, interrompendo o
processo normal e ocasionando acidentes.
Figura 8 - Serra com dentes ou videas quebrados ou trincados
Fonte: www.saudetrabalho.com.br
3.7.3 Desequilbrio da Madeira decorrente da prpria operao da serra
O desequilbrio da madeira pode ocorrer atravs do uso do disco com dentes
quebrados, ou ainda por falha do operador na colocao da madeira na mesa da serra circular.
A tabua de madeira a ser serrada deve ser colocada sobre a mesa da serra alinhada e rente
mesma. O desequilbrio da madeira pode acarretar: serragem equivocada da madeira, pedaos
de madeira saltando de forma desorganizada, podendo tambm a madeira engalhar puxando a
mo do operador.
Figura 9 - Desequilbrio da madeira
Fonte: www.saudetrabalho.com.br
3
O des equi l br i o
das tens es
i nter nas da
madei r a
decor r ente da
pr pr i a
oper ao das
s er r as ;
--------
76
3.7.4 Contato acidental das mos com os dentes da Serra, caso no possua coifa
protetora
A coifa protetora um EPC indispensvel para o uso da Serra Circular, sem a
mesma o operador fica exposto ao contato direto entre mo, dedos e o disco da serra, tal fato
pode ocasionar acidente mediante qualquer mnimo descuido do operador.
Figura 10 - Contato acidental das mos com os dentes da Serra
Fonte: www.saudetrabalho.com.br
3.7.5 Contato acidental com o disco da serra, no final da operao de serragem, caso no
possua coifa protetora e empurrador
O empurrador utilizado para empurrar a pea de madeira a ser serrada no final
da operao, por se tratar de um pedao de madeira pequeno, o empurrador evita que o
operrio tenha contato direto das mos aos dentes do disco da serra circular. Por isso no
processo de serragem, no fim da pea a ser serrada fundamental a utilizao de
empurradores.
--------
Contato aci dental com a
apar te operaci onal do
di sco ( dentes ) em
cas o de no poss ui r a
coi faprotetora.
77
Figura 11 - Contato acidental com o disco da serra caso no possua coifa protetora e
empurrador
Fonte: www.saudetrabalho.com.br
3.7.6 Contato com o disco da serra na parte inferior (abaixo) da bancada, falta de
proteo nas laterais
Na parte lateral da serra, onde delimita o espao entre o operador e o
equipamento, se faz necessrio uma proteo, que poder ser executada em chapa de madeira,
madeirite, ou qualquer outro material, a finalidade proteger o membros inferiores ( perna ,
joelho) do disco da serra circular que gira embaixo da bancada da mesma.
Figura 12 - Contato com o disco da serra na parte inferior da bancada sem proteo nas
laterais Fonte: www.saudetrabalho.com.br
Contato com os
dentes do di s co na par te
i nfer i or ( embai xo) da
bancada por
(fal ta de fechamento)
de pr oteo nas l ater ai s .
--------
Contato com di s co no fi nal da oper ao de s er r agem,
quando as mos do tr abal hador , ao empur r ar em apeas e
apr oxi mam dos dentes do di s co s em a coi fapr otetor ae o
empur r ador , di s pos i ti vo i ndi s pens vel nes se ti po de
oper ao.
78
3.7.7 Falta de organizao no canteiro de obras
A falta de organizao no canteiro de obras pode ocasionar acidentes por
tropees ou quedas, em outros objetos, ferramentas jogadas, ou restos de madeiras
armazenadas ou alocadas em locais indevidos.
Figura 13 - Falta de organizao e limpeza no canteiro de obras
Fonte: www.saudetrabalho.com.br
3.7.8 Coletor de serragem e suportes de apoio
O primeiro para coletar a serragem formada pela operao de serragem da
madeira e o segundo utilizado para apoiar peas grandes a serem serradas, evita queda e
desequilbrio da madeira.
Fal tade or gani z ao e l i mpez a, Lay - out
mal el abor ado
( obs tr uo com mater i ai s )
79
Figura 14 - Coletor de serragem e suportes de apoio
Fonte: www.saudetrabalho.com.br
3.8 Etapas para aplicao da APR
Para melhor classificar os riscos quanto gravidade, fez-se uma adaptao das
categorias de severidade para a realidade da empresa. Desta forma, adaptou-se a tabela 2
apresentada no item 2.5.3.1 proposto na tabela 15.
Tabela 15 Categoria de severidade dos cenrios utilizados em APR (adaptada)
Fonte: De Cicco e Fantazzini (1994), adaptada
Categoria Denominao Descrio/Caractersticas
I
Desprezvel
- Sem danos ou danos insignificantes aos equipamentos e/ou
a propriedade;
- No ocorrem leses/mortes de trabalhadores e/ou de
terceiros;
- O mximo que pode ocorrer so casos de primeiros
socorros ou tratamento mdico menor;
II
Marginal
(ou Limtrofe)
- Danos leves aos equipamentos e/ou a propriedade (os
danos materiais so controlveis e/ou de baixo custo de
reparo);
- Leses leves aos trabalhadores;
III
Crtica
- Danos severos aos equipamentos e/ou a propriedade;
- Leses de gravidade moderada aos trabalhadores
(probabilidade remota de morte);
- Exige aes corretivas imediatas para evitar seu
desdobramento em catstrofe;
IV
Catastrfica
- Danos irreparveis aos equipamentos e/ou a propriedade;
- Provoca mortes ou leses aos trabalhadores.
Suportes de apoio
:
Quando as peas for em de gr ande
compr i mento, r ecomendvel a uti l i z ao de
s upor tes . Estes s upor tes podem ser caval etes
de madei r a e/ou metl i co, confor me fi gur a.
Coletor de serragem
:
cai xaque pode ser constr u da
de madei r i te , tem a funo de
s edi mentar o p de ser r a.
80
3.9 Aplicao da APR
Aps a escolha da mquina para a realizao do estudo de caso, foram seguidas as
etapas abaixo para a aplicao da Anlise Preliminar de Riscos (APR):
- Estudo e avaliao dos dados construtivos, englobando os princpios gerais de
funcionamento da serra circular. Observou-se o funcionamento da mquina na qual se
teve a explanao dos operadores e encarregado de processos;
- Preparao de fonte de dados e material de apoio: com as informaes obtidas tornou-
se possvel dividir a mquina em subsistemas e obter dados suficientes para a
realizao das reunies;
- Realizao de reunies: para a identificao de riscos foram realizadas reunies com
algumas pessoas da empresa, formando-se um grupo de trabalho com representantes
dos setores envolvidos. Primeiramente, procurou-se explanar o objetivo da aplicao
da tcnica e os benefcios que a mesma poder trazer para a empresa. A seguir,
contando com a participao dos integrantes do grupo, fez-se a adaptao da tabela de
severidade de acordo com a realidade da construtora para posterior aplicao da
tcnica e preenchimento dos formulrios. Nestas reunies procurou-se discutir
situaes de risco j ocorridas ou que possam vir a ocorrer, bem como, as medidas de
controle pertinentes para evitar que os mesmos ocorram explorando o conhecimento e
experincia deste grupo de trabalho.
Os participantes das reunies e respectivos cargos esto relacionados na tabela
16.
Tabela 16 Grupo de Trabalho
Nome Cargo
Deise Delfino Nunes Coordenadora Engenheira Responsvel
Rosilda Maria de Souza Coordenadora
Francisco Vieira Lima Mestre de Obras (experincia 21 anos)
Joo Eleotrio Carpinteiro (experincia 23 anos)
81
3.10 Etapas para Aplicao da AMFE
Para a aplicao da AMFE, uma das primeiras providencia tomada foi a escolha
do formulrio com a participao do grupo de trabalho da construtora. Na tabela 17 apresenta-
se o formulrio para a aplicao.
Tabela 17 - Formulrio para AMFE
Folha N:
MFE
Anlise de Modos de Falha e Efeitos
Data:
Empresa:
Sistema: Elaborada por:
Possveis Efeitos Componentes Modos
de
Falha
Em outros
componentes
No sistema
Categ. de
Risco
Mtodos de
Deteco
Ao de
Compensao e
Reparos
Fonte: De Cicco e Fantazzini (1994)
3.11 Aplicao da AMFE
Para a aplicao desta tcnica utilizou-se o seguinte procedimento:
- Realizao de reunies: realizou-se reunio com o grupo de trabalho apresentado na
tabela 10, apresentando-lhes primeiramente a tcnica de Anlise de Risco FMEA a
ser aplicada;
- Adequao do formulrio: na ocasio da reunio, apresentou-se aos integrantes do
grupo o formulrio da AMFE para que fosse adequado realidade da empresa; e,
posterior aplicao da tcnica e preenchimento;
82
- Diviso do sistema: apresentou-se a serra circular aos integrantes como sendo o
sistema global, ou seja, o objeto de anlise. Em consenso com o grupo, fez-se a
diviso deste sistema (mquina) em componentes;
- Escolha dos componentes a estudar: aps escolhido o sistema, procurou-se preparar
uma listagem completa dos componentes, registrando-se, ao mesmo tempo, a funo
especfica de cada um deles. Os componentes esto descritos e relacionados no item
3.11.2;
- Preenchimento do formulrio: nesta etapa questionaram-se os participantes a
respeito dos modos de falha que poderiam ocorrer em cada componente, alm de
indicar o efeito e a causa de cada falha, classificando-a quanto gravidade,
ocorrncia e modos de deteco. Exploraram-se tambm, as medidas possveis de
serem tomadas para eliminar ou controlar cada falha especfica e seus efeitos.
3.11.1 Abordagem sistmica
Os cuidados necessrios para o manuseio de serra circular so indispensveis para
a reduo de acidentes e maior ganho em produtividade. A instalao da serra circular dever
ser feita em local que restrinja o acesso de pessoas aos operadores especializados e pessoas
autorizadas. Alm, das recomendaes normais, ser considerado o espao em torno da
mquina, que dever ser adequado em funo das caractersticas da madeira a ser trabalhada e
do tipo de operao. As peas devem ser trabalhadas com segurana e no deve existir
interferncia com outras operaes circunvizinhas. A serra circular deve ser disposta de
maneira a facilitar os trabalhos de inspeo, manuteno e consertos, bem como possibilitar
uma fcil alimentao e retirada de materiais. A figura 15 apresenta o processo da serra
circular.
83
Figura 15 - Processo da Serra circular
Fonte:(http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-51824239-serra-circular-profissional-
completa-preco-imbativel-aqui-_JM)
3.11.2 Componentes da serra circular
Os componentes esto descritos e relacionados nas figuras 16 a 19.
a) Disco da Serra Circular - Os dentes do disco da serra devem ser mantidos em bom estado,
afiados e travados.
Par tes Componentes da Ser ra Circular
Disco da Serra Cir cular :
Os dentes do di sco daSer r adevem s er
manti dos em bom es tado, afi ados e tr avados
e, no podendo afi - l os , subs ti tui - s e o di sco.
As fl anges de aper to do di s co devem ter , no
m ni mo 1/3 do di metr o do mesmo.
1
Figura 16 - Disco da serra circular
Fonte: www.saudetrabalho.com.br
84
b) Coifa protetora - Evita o contato das mos, brao ou outra parte do corpo do carpinteiro
com o disco da serra.
2
Coif a protetora :
A coi fa evi ta um eventual contato das
mos e outr a par te do cor po do
oper ador com o di sco da Ser r a.Nunca deve ser
r eti r ada ou l evantada ao oper ar a ser r a.
Figura 17 - Coifa protetora
Fonte: www.saudetrabalho.com.br
c) Cutelo divisor - Evita o aprisionamento do disco, o que poderia causar o retrocesso da
madeira.
Figura 18 - Cutelo divisor ou Lmina reparadora
Fonte: www.saudetrabalho.com.br
Cutelo Divisor ou Lmina separ adora
:
O cutel o di vi s or uti l i z ado par aevi tar o
apr i s i onamento do di s co, o que poder i acaus ar
o r etr oces s o do mater i al . Par aque es s a
pr oteo sej aefi caz , neces s r i o que al guns
pr ocedi mentos s ej am devi damente
obs er vados , tai s como : a) ter es pes s ur ai gual
es pes s ur ado di s co, b) es tar no mes mo pl ano
do di s co, com abor dade ataque
concentr i camente ao mes mo, di s tanci ada
2 a3 mm; c) s er i ns peci onado per i odi camente.
3
85
d) Empurradores - Evita o eventual contato com as mos na serra, com trabalho em peas
pequenas e no fim da operao.
Figura 19 - Empurradores
Fonte: www.saudetrabalho.com.br
e) Chave liga-desliga - Os equipamentos eltricos devem ter o dispositivo liga-desliga, sendo
proibido fazer ligao direta. a chave que ligar e desligar a mquina. Impedindo que a
mesma seja ativada sem inteno ou por acidente.
f) Aterramento - a ligao intencional com a terra, isto , com o solo, que pode ser
considerado um condutor atravs do qual a corrente eltrica pode fluir, difundindo-se. Toda
instalao ou pea condutora que no faa parte dos circuitos eltricos, mas que,
eventualmente, possa ficar sob tenso, deve ser devidamente aterrada. Neste caso, a corrente
eltrica de fuga seguir para o ponto de aterramento pelo condutor terra, no passando pelo
corpo do trabalhador que toca a sua carcaa. No caso de inexistir o aterramento, se um
trabalhador encostar-se carcaa da mquina, a corrente eltrica vai passar pelo seu corpo e
causar um choque eltrico. O aterramento da serra circular deve ser feito conforme normas
tcnicas recomendadas, utilizando uma haste de cobre.
Empurradore
s
:
Par a evi tar um eventual contato das mos do
oper ador com di s co da Ser r a, pr i nci pal mente
no tr abal ho com peas pequenas , deve ser
uti l i z ado um di s pos i ti vo empur r ador como
el emento i nter medi r i o.
86
CAPTULO IV
4 Resultados obtidos
4.1 Anlise Preliminar de Riscos (APR)
Para aplicao da teoria proposta, ou seja, aplicao desta tcnica de
gerenciamento de risco foi necessrio que o grupo de trabalho tivesse alguma noo de riscos.
Para isto, fez-se uma exposio de conceitos, tais como, riscos, acidente, perigo, gravidade
etc, a fim de familiarizar os envolvidos com os termos utilizados na Anlise Preliminar de
Risco.
Durante a aplicao desta tcnica, coordenou-se o grupo de trabalho de uma forma
sistemtica, explorando o conhecimento dos mesmos, para adequar o formulrio s reais
necessidades da empresa, bem como, a diviso de subsistemas e seu funcionamento e
preenchimento do formulrio. Foram realizados questionamentos a respeito da possibilidade
da ocorrncia de acidentes, em cada subsistema, suas possveis causas e efeitos, alm de
discutir medidas preventivas. Abordaram-se todos os tipos de risco possveis, tais como:
riscos fsicos, qumicos, biolgicos, ergonmicos e acidentes.
A maior dificuldade de consenso foi encontrada na discusso do item referente a
classificao da severidade das hipteses de acidentes identificadas. Entretanto, ponderando o
propsito das categorias de severidade aplicadas a APR, chegou-se finalmente a um consenso.
Para o preenchimento do formulrio destacaram-se os subsistemas pertencentes ao
sistema escolhido. para cada subsistema discutiu-se o risco, as causas e os efeitos, para,
finalmente, decidir as medidas preventivas ou corretivas a serem recomendadas,conforme
apresentado nas tabelas de 18 a 24.
O risco por queda de madeira da pilha est descrito na tabela 18. O
armazenamento inadequado de madeira, no sendo o estoque empilhado em forma de grade,
ordenado por bitola, tipo de madeira e tamanho, a fim de evitar desequilbrio da pilha quando
forem retiradas algumas peas da mesma e, nem o local apropriado para evitar a ao da gua.
No caso de uma pilha desorganizada, simplesmente amontoada, podem desequilibrar outras
87
peas na retirada de uma, podendo essas peas movimentadas sem inteno, carem ocasionar
acidentes leves ao trabalhador que est retirando as madeiras ou a um terceiro.
Tabela 18: Anlise preliminar de risco do subsistema empilhamento de madeira
Anlise Preliminar de Riscos
Identificao do Sistema: Conjunto Serra circular
Subsistema: Empilhamento de madeira Projetista: Deise D. Nunes e Rosilda M. de Souza
Risco Causas Efeitos Categoria do
Risco
Medidas Preventivas ou Corretivas
Queda de
madeira da
pilha
Madeira
empilhada de
forma
inadequada
Acidentes
pessoais leves
II
Empilhar a madeira em forma de
grade, ordenada por bitola.
Fonte: Deise D. Nunes e Rosilda M. de Souza, 2007.
Pregos existentes na madeira podem provocar cortes e perfuraes aos
trabalhadores que movimentarem, transportarem ou serrarem a peas, o ideal que toda a
madeira reutilizada seja armazenada isenta de pregos. A tabela 19 apresenta a anlise
realizada.
Tabela 19: Anlise preliminar de risco do subsistema madeira isenta de pregos
Anlise Preliminar de Riscos
Identificao do Sistema: Conjunto Serra circular
Subsistema: Madeira isenta de pregos Projetista: Deise D. Nunes e Rosilda M. de Souza
Risco Causas Efeitos Categoria do
Risco
Medidas Preventivas ou Corretivas
Corte e
perfuraes
Madeira
com prego
Acidentes
pessoais leves
II
Remover os pregos da madeira antes de
empilh-las.
Fonte: Deise D. Nunes e Rosilda M. de Souza, 2007.
A tabela 20 apresenta a anlise do risco de queda de madeira e atropelamento. O
transporte da madeira dever ser realizado de forma adequada e com ateno. Peas grandes
devem ser transportadas por mais de uma pessoa equilibrando o peso, o transporte dever ser
feito com ateno evitando colises e atropelamentos de pessoas e equipamentos com a
madeira, o canteiro deve estar organizado de maneira que o trabalhador ao transportar a
madeira no tropece em nada.
88
Tabela 20: Anlise preliminar de risco do subsistema transporte da madeira a serra
Anlise Preliminar de Riscos
Identificao do Sistema: Conjunto Serra circular
Subsistema: Transporte da madeira a serra Projetista: Deise D. Nunes e Rosilda M. de Souza
Risco Causas Efeitos Categoria do
Risco
Medidas Preventivas ou
Corretivas
Queda de
madeira
Transporte
inadequado
Danos pessoais
leves
II
Treinamento para transporte
de forma adequada.
Atropelamento
Desorganizao do
canteiro;
Desateno.
Danos leves a
terceiros; Danos
a equipamentos.
II
Organizao do canteiro.
Fonte: Deise D. Nunes e Rosilda M. de Souza, 2007
Na tabela 21 apresenta-se a anlise do risco com a queda e o desequilbrio de
madeira. No caso de serragem de peas grandes, devero ser utilizados apoios evitando o
desequilbrio da madeira. Com o desequilbrio a pea pode saltar em direes indesejadas,
ocorrer retrocesso da madeira, ou engasgar a madeira no disco, provocando acidentes.
Tabela 21: Anlise preliminar de risco do subsistema colocao da madeira
Anlise Preliminar de Riscos
Identificao do Sistema: Conjunto Serra circular
Subsistema: Colocao de madeira Projetista: Deise D. Nunes e Rosilda M. de Souza
Risco Causas Efeitos Categoria do Risco Medidas Preventivas ou
Corretivas
Queda e
Desequilbrio
da madeira
Falta
suporte de
apoio para
madeiras
grandes
Acidentes
pessoais
leves
II
Utilizar o suporte de apoio para
peas grandes a serem serradas.
Fonte: Deise D. Nunes e Rosilda M. de Souza, 2007
A organizao no canteiro fundamental, para evitar desperdcios de materiais,
mal uso de ferramentas e principalmente evitar acidentes. Ferramentas ou materiais alocados
em qualquer lugar, espalhados, ou esquecidos no meio do canteiro, ou em corredores de
passagem de trabalhadores podem ocasionar tropees e posteriormente acidentes. A remoo
automtica do material no mais utilizvel no momento do corte ou diariamente importante
para a organizao e condies adequadas ao ambiente de trabalho. Objetos jogados de alturas
tambm podem provocar acidentes. A tabela 22 apresenta a anlise do risco.
89
Tabela 22: Anlise preliminar de risco do subsistema organizao do canteiro
Anlise Preliminar de Riscos
Identificao do Sistema: Conjunto Serra circular
Subsistema: Organizao do canteiro Projetista: Deise D. Nunes e Rosilda M. de Souza
Risco Causas Efeitos Categoria do
Risco
Medidas Preventivas ou Corretivas
Quedas
Falta de
organizao;
Falta de ateno;
Falta de coletor de
serragens
Acidentes
pessoais leves;
Danos a
equipamentos
II
Treinamento;
Execuo layout.
Fonte: Deise D. Nunes e Rosilda M. de Souza, 2007
Na operao da serra circular h resduos finos resultantes do corte de madeiras,
esses resduos so irritantes e sua inalao constante poder levar a doenas graves como o
surgimento de tumores nas vias respiratrias superiores. A anlise do risco est descrita na
tabela 23.
Tabela 23 Anlise preliminar de risco do subsistema organizao do canteiro
Anlise Preliminar de Riscos
Identificao do Sistema: Conjunto Serra circular
Subsistema: Serragem Projetista: Deise D. Nunes e Rosilda M. de Souza
Risco Causas Efeitos Categoria do
Risco
Medidas Preventivas ou
Corretivas
Resduos finos
Poeiras
resultantes
do corte da
madeira
doenas nas vias
respiratrias
II
Instalao de dispositivos de
aspirao para a retirada dos
resduos.
Fonte: Deise D. Nunes e Rosilda M. de Souza, 2007
Na tabela 24 apresenta-se a anlise de risco em relao poluio sonora que
poder causar a perda auditiva ao trabalhador. Para diminuir a intensidade do rudo pode ser
instalado um dispositivo que consiste em fixar sobre a mesa um painel, com compensado,
paralelamente lmina a 1 mm desta. As lminas com maior nmero de dentes provocam
maior intensidade de rudos e ainda as com fendas radiais tambm. As lminas especiais
(carbono) provocam menor intensidade de rudos e tambm so muito mais resistentes,
aumentando a durabilidade. O aumento da espessura da lmina, do dimetro dos flanges e a
diminuio da velocidade tambm favorecem a reduo de rudos. Existem discos com
tratamento acstico que produzem menos rudos.
90
Tabela 24: Anlise preliminar de risco do subsistema organizao do canteiro
Anlise Preliminar de Riscos
Identificao do Sistema: Conjunto Serra circular
Subsistema: Poluio sonora Projetista: Deise D. Nunes e Rosilda M. de Souza
Risco Causas Efeitos Categoria
do Risco
Medidas Preventivas ou
Corretivas
Rudo
acima de
85dB (A)
- as turbulncias do ar so
deslocadas pelas lminas;
- as vibraes do corpo da
lmina gerada pelas
turbulncias aerodinmicas;
- as vibraes causadas pelo
impacto dos dentes sobre o
material trabalhado.
Perda auditiva
II
- utilizar protetor auricular;
exames audiomtricos
peridicos;
- treinamento sobre o uso
correto do EPI;
- fiscalizao para a efetiva
utilizao do EPI.
Fonte: Deise D. Nunes e Rosilda M. de Souza, 2007.
4.2 Anlise de Modos de Falhas e Efeitos (AMFE)
Para a aplicao da AMFE utilizou-se o mesmo grupo de trabalho que participou
da APR. Foram esclarecidos os princpios desta tcnica, com a apresentao do formulrio
padro; e, posterior adaptao realidade da empresa. Tambm nesta tcnica, fez-se a diviso
do sistema (conjunto serra circular), em componentes. Dividiu-se em seis componentes para a
aplicao desta tcnica: a) disco; b) coifa protetora; c) cutelo divisor; d) empurradores; e)
chave liga/desliga; f) aterramento.
Para preenchimento do formulrio, destacaram-se, ento, os componentes
pertencentes ao sistema escolhido. Para cada componente foram discutidos os possveis
modos de falhas e efeitos. Aps, estabeleceu-se a categoria de risco e deteco destes
possveis modos de falhas, para finalmente, decidir as aes para compens-los ou repar-los.
Nas tabelas 25 a 30 apresentam-se as anlises dos componentes.
Na tabela 25 ser analisado o disco da serra circular que devem ser mantidos em
bom estado, afiados e travados e, no podendo afi-lo, substitui-se o disco. As flanges de
aperto do disco devem ter no mnimo 1/3 do dimetro do mesmo. O disco da serra circular
mal afiado, mal travado ou com dentes quebrados, provoca o retrocesso da madeira, pois a
madeira engalha dos dentes da serra, puxando a mo do trabalhador para o contato com os
91
dentes do disco da serra provocando leses variadas. A fim de evitar tais acidentes se faz
necessrio revisar e fazer manuteno peridica da serra circular.
Tabela 25: Anlise de modos de falha e efeitos do disco
Folha N: 01 AMFE
Anlise de Modos de Falha e Efeitos Data: 14/03/2007
Empresa:
Construtora Nunes
Sistema:
Conjunto Serra circular
Elaborada por:
Deise D. Nunes e Rosilda M. de Souza
Possveis Efeitos Componentes Modos de
Falha
Em outro
componente
No sistema
Categ
de
Risco
Mtodos
de
Deteco
Ao de
Compensao e
Reparos
Disco (a)
Mal afiado;
Mal travado;
Dentes
quebrados
_
Retrocesso
da madeira
II
Vistoria
Treinamento;
Revisar e fazer
manuteno
peridica.
Fonte: Deise D. Nunes e Rosilda M. de Souza, 2007
A coifa protetora um equipamento de proteo coletiva que evita um eventual
contato direto das mos e outra parte do corpo do operador com o disco da serra circular.
Uma serra circular jamais dever ser utilizada sem a existncia da coifa protetora fixada de
forma correta protegendo o trabalhador de acidentes. Nunca deve ser retirada ou levantada ao
operar a serra. O trabalhador dever ser treinado para manusear a serra com a coifa protetora e
os devidos cuidados necessrios. Sua anlise est apresentada na tabela 26.
Tabela 26: Anlise de modos de falha e efeitos da coifa protetora
Folha N: 02 AMFE
Anlise de Modos de Falha e Efeitos Data: 14/03/2007
Empresa:
Construtora Nunes
Sistema:
Conjunto Serra circular
Elaborada por:
Deise D. Nunes e Rosilda M. de Souza
Possveis Efeitos
Componentes
Modos de
Falha
Em outro
componente
No sistema
Categ.
de
Risco
Mtodos de
Deteco
Ao de
Compensao e
Reparos
Coifa
protetora (b)
Inexistncia
fixao da
coifa
_
Contato das
mos do
operador
com o disco
III
Vistoria
Treinamento;
Colocao;
Utilizar a serra
somente com a
coifa protetora.
Fonte: Deise D. Nunes e Rosilda M. de Souza, 2007
Descreve-se a anlise do risco com o cutelo divisor na tabela 27. O cutelo divisor
ou lmina separadora utilizado para evitar o aprisionamento do disco, o que poderia causar
92
o retrocesso da madeira, direcionando as partes da madeira serrada. Os treinamentos
conscientizando os trabalhadores e a manuteno peridica do equipamento fundamental.
Tabela 27: Anlise de modos de falha e efeitos do cutelo divisor
Folha N : 03
AMFE
Anlise de Modos de Falha e Efeitos
Data: 14/03/2007
Empresa:
Construtora Nunes
Sistema:
Conjunto Serra circular
Elaborada por:
Deise D. Nunes e Rosilda M. de Souza
Possveis Efeitos
Componentes
Modos de
Falha
Em outro
componente
No sistema
Categ.
de
Risco
Mtodos
de
Deteco
Ao de
Compensao e
Reparos
Cutelo divisor
(c)
Inexistncia
fixao
do
componente
_
Retrocesso da
madeira ;
Aprisionamen-
to do disco
II
Vistoria
- treinamento;
- ter espessura
igual a espessura
do disco;
- estar no mesmo
plano do disco;
- ser inspecionado
periodicamente.
Fonte: Deise D. Nunes e Rosilda M. de Souza, 2007
Na tabela 28 apresenta-se a anlise do risco dos empurradores. Os empurradores
devem ser utilizados como elemento intermedirio para evitar um eventual contato das mos
do operador com o disco da serra, principalmente no trabalho com peas pequenas. A
inexistncia dos empurradores, torna o contato das mos do trabalhador com o disco da serra
circular direto, aumentando muito o risco de acidentes. Esses riscos podem ser combatidos
atravs de treinamentos buscando despertar a conscientizao dos trabalhadores sobre a
importncia dos empurradores e os riscos oriundos da falta de utilizao dos mesmos.
Tabela 28: Anlise de modos de falha e efeitos dos empurradores
Folha N : 04 AMFE
Anlise de Modos de Falha e Efeitos Data: 14/03/2007
Empresa:
Construtora Nunes
Sistema:
Conjunto Serra circular
Elaborada por:
Deise D. Nunes e Rosilda M. de Souza
Possveis Efeitos
Componentes
Modos de
Falha Em outro
componente
No sistema
Capte.
de
Risco
Mtodos
de
Deteco
Ao de
Compensao e
Reparos
Empurradores
(d)
Inexistncia
_
Contato das
mos do
operador
com o disco
II
Vistoria
Treinamento;
Utilizar a serra com
empurradores para
madeiras pequenas.
Fonte: Deise D. Nunes e Rosilda M. de Souza, 2007
93
A chave liga/desliga evita que a serra seja ligada sem inteno. Caso a serra seja
instalada direto, sem chave de acionamento, o risco de a mesma ser ativada de forma acidental
e sem inteno grande, podendo provocar acidentes como por exemplo: em pessoas que
estavam fazendo manuteno pensando que o equipamento estava desligado, peas que se
encontravam em cima da bancada serem lanadas para qualquer parte podendo provocar
colises em terceiros, entre outros. Na tabela 29 est descrito a anlise.
Tabela 29: Anlise de modos de falha e efeitos da chave liga/desliga
Folha N : 05 AMFE
Anlise de Modos de Falha e Efeitos Data: 14/03/2007
Empresa:
Construtora Nunes
Sistema:
Conjunto Serra circular
Elaborada por:
Deise D. Nunes e Rosilda M. de Souza
Possveis Efeitos
Componentes
Modos de
Falha
Em outro
componente
No sistema
Capte.
de
Risco
Mtodos de
Deteco
Ao de
Compensao e
Reparos
Chave
liga/desliga
(e)
Inexistncia
da chave
Danos ao
equipamento
Ativar a
serra
acidental-
mente
II
Vistoria
Treinamento;
Instalao correta
da serra circular.
Fonte: Deise D. Nunes e Rosilda M. de Souza, 2007
Na tabela 30 apresenta-se a anlise do aterramento. O aterramento faz parte da
instalao correta da serra, o mesmo evita que o operador leve choques eltricos. So
interessantes neste caso treinamentos orientando a instalao correta da serra circular e
enfatizando os perigos dos choques eltricos, e principalmente vistoriar a serra verificando se
a mesma est aterrada e com todos os EPC necessrios para realizao do processo com
segurana.
Tabela 30: Anlise de modos de falha e efeitos do aterramento
Folha N : 06 AMFE
Anlise de Modos de Falha e Efeitos Data: 14/03/2007
Empresa:
Construtora Nunes
Sistema:
Conjunto Serra circular
Elaborada por:
Deise D. Nunes e Rosilda M. de Souza
Possveis Efeitos
Componentes
Modos de
Falha Em outro
componente
No sistema
Capte.
de
Risco
Mtodos de
Deteco
Ao de
Compensao e
Reparos
Aterramento
(f)
falha de
aterramento
_
Choques
eltricos
III
Vistoria
Treinamento;
aterramento da
serra circular.
Fonte: Deise D. Nunes e Rosilda M. de Souza, 2007
94
CAPTULO V
5 Concluses e Recomendaes para futuros trabalhos
5.1 Concluses
O desenvolvimento deste trabalho teve como foco a indstria da Construo Civil,
em especifico os servios de execuo de forma com a utilizao de serra circular, onde foram
levantados diretamente os riscos que possivelmente podem ocorrer na operao deste
equipamento. Levou-se em considerao diversas condies de trabalho com serra circular a
fim de levantar os riscos, e analisou-se os riscos de acidentes, com e sem uso de EPC na serra
circular, inclusive a impossibilidade de trabalhar sem estes itens.
Atravs de visitas de campo, na empresa mencionada neste trabalho, foram
analisados todos os procedimentos necessrios para execuo dos trabalhos com o uso da
serra circular, observou-se o perfil dos trabalhadores, coletou-se dados e trocou-se experincia
com estes mesmos trabalhadores. Enfim, todo o processo foi acompanhado, com o intuito de
levantar todos os possveis riscos. A partir disso, pode se dizer que objetivo geral deste
trabalho, "identificar os riscos de acidentes nos servios de execuo de formas com a
utilizao de serra circular" foi alcanado.
Nesta empresa a serra circular estava equipada com todos os EPC solicitados
pelas normas, neutralizando os possveis riscos levantados. Na mesma proibida a utilizao
da serra circular, caso todos os equipamentos de segurana necessrios no estiverem
instalados, disponveis e em condies de uso.
Os objetivos especficos foram alcanados aps os trabalhadores perceberem a
importncia do trabalho e a partir de ento contriburem com suas experincias e
necessidades. Com base na reviso bibliogrfica e na experincia profissional, as atividades
dos trabalhadores envolvidos foram observadas e descritas. As tcnicas APR e AMFE foram
utilizadas para identificar os riscos que possivelmente pudessem ocorrer. Analisou-se,
tambm os riscos de cada componente do equipamento, com e sem EPC, e as propores de
cada risco identificado foram avaliadas.
95
Mediante a aplicao das duas tcnicas, comprovou-se os dados esperados, ou
seja, nos resultados da AMFE foram identificados dois cenrios de risco crtico, que podero
acarretar acidentes com danos aos trabalhadores, considerados acidentes graves (Categoria
risco=3). Esta ocorrncia foi constatada na utilizao da serra circular sem a coifa protetora e
na instalao da mesma sem o aterramento adequado. Concluiu-se que existem medidas
preventivas eficientes que neutralizam os riscos identificados, que so a capacitao e
conscientizao dos trabalhadores, a instalao adequada da serra circular com aterramento e
chave liga/desliga, e a sua utilizao apenas se dotada de coifa protetora e demais EPI e EPC.
J nos resultados da aplicao da APR observou-se que no houve a identificao
de nenhum risco catastrfico, sendo que todos foram enquadrados na categoria de gravidade
moderada (categoria risco=2). Estes riscos mesmo que classificados como moderados devero
ser observados e neutralizados com implementao das medidas corretivas e/ou preventivas
sugeridas.
As tcnicas de anlise de risco aplicadas foram de suma importncia para
diagnosticar os riscos na operao com a serra circular e sugerir medidas para solucion-los.
Alm, de demonstrar os pontos positivos da construtora, como o constatado em relao ao uso
dos EPI (avental de raspa, protetor facial, protetor auricular tipo concha e mscara
descartvel) e dos EPC considerados mnimos (cutelo divisor, coifa de proteo e caixa de
coleta de serragem).
Para as autoras recomendvel o desenvolvimento das anlises antes da elaborao do
plano de segurana, para que a funo prevencionista de um plano seja atendida. A aplicao
desta ferramenta na fase de projeto ou de desenvolvimento de qualquer novo processo,
produto ou sistema na indstria da construo civil fundamental para que se cumpra o
objetivo de determinar a categoria dos riscos e as medidas preventivas antes da fase
operacional, permitindo revises de projeto em tempo hbil no sentido de promover maior
segurana para o trabalhador. Com o foco na preveno, as tcnicas de anlises podero
apresentar os seguintes benefcios para a indstria da construo civil: reduzir a gravidade de
eventos indesejados no canteiro de obra; identificar necessidades de treinamentos; detectar as
deficincias e aperfeioar os gastos com manuteno; preservar a imagem da construtora;
manter o ambiente de trabalho adequado quanto segurana e priorizar as tomadas de
decises dos investimentos necessrios em preveno.
Entende-se que o papel dos especialistas dever ser priorizar a implantao de
programas de educao bsica e de qualificao de trabalhadores, com enfoque na rea de
96
segurana e sade na indstria da construo civil e implementao de programas de
segurana e sade previstos na legislao (PCMAT, PPRA e PCMSO). Atuar na fase de
projetos, prevendo medidas de segurana .
As empresas devero elaborar e desenvolver o PCMAT integrado com outros
programas como qualidade, meio ambiente, sade do trabalhador e sade no trabalho.
Devero tambm observar as diretrizes do Guia de Sistemas de Gesto da OIT, que d
orientaes para integrao dos elementos do sistema de gesto na segurana e sade no
trabalho, na gesto global da empresa,melhorando continuamente a eficcia de SST.
Embasados nos resultados obtidos neste estudo de caso, conclui-se que as tcnicas
aplicadas foram eficazes, sendo que as mesmas podero ser utilizadas, com sucesso, para
identificar os possveis riscos de acidentes em outros servios executados na construo civil.
5.2 A Importncia da Engenharia de Segurana do Trabalho
A Engenharia de Segurana do Trabalho est diretamente ligada qualidade dos
servios executados pela empresa. O que se espera atualmente de uma empresa onde a
qualidade to exaltada e valorizada, que a qualidade seja um conjunto de toda a empresa
incluindo o processo, os produtos e servios, trabalhadores e colaboradores, unidos por um
sistema de conscientizao que traga benefcios e melhoria continua a todos. Esta
implementao de qualidade est diretamente ligada segurana e sade do trabalhador que
vem agregar valores a todo sistema, trabalhando principalmente com aes preventivas de
segurana.
Economicamente, a segurana do trabalho importantssima. Do ponto de vista
estratgico fundamental, constatando-se que aes preventivas de segurana so muito mais
viveis e econmicas que aes corretivas, indenizaes por acidentes de trabalho, ou
afastamentos temporrios. Sem falar que a ocorrncia de um acidente no afeta apenas o
trabalhador acidentado, mas causa impacto e transtornos psicolgicos nos demais
trabalhadores da empresa, na famlia e na sociedade. Segundo Abreu & Cheade (apud Costa,
2004) a "responsabilidade pela vida e sade no trabalho recai no trinmio estado-empresa-
trabalhador, uma vez que, os efeitos dos acidentes de trabalho, so decorrentes da interao
dos trs elementos". Portanto, a segurana do trabalho precisa ser vista como um conjunto de
tcnicas, regras e recursos que sejam aplicadas em conjunto com os demais setores da
97
empresa, de modo a prevenir acidentes e doenas ocupacionais, alm, claro, das perdas
materiais, de forma a satisfazer por completo a empresa e seus trabalhadores.
J em relao a eficincia,eficcia efetividade para a Engenharia de Segurana,
observamos respectivamente que; as exigncias estabelecidas perante as analises de risco
devem ser rigorosamente aplicadas, utilizando EPI e EPC, e instalando de forma adequada o
equipamento,a eficcia do sistema est em utilizar o layout do canteiro de obras a favor da
organizao e manter o habito de utilizao dos equipamentos de segurana atravs da
conscientizao dos funcionrios e colaboradores da empresa. Atravs do gerenciamento e
melhoria continua das aes anteriores a empresa atende com efetividade o sistema,
garantindo o futuro da organizao.
5.3 Recomendaes para Futuros Trabalhos
Algumas sugestes so apresentadas a seguir, com a inteno de contribuir com
outros trabalhos que possam servir para a melhoria do ambiente laboral de outras empresas, j
que a empresa onde foi realizado o estudo de caso todas as medidas preventivas de segurana
j esto implementadas.
- Implementao das medidas preventivas na APR;
- Implementao das aes recomendadas na AMFE, neutralizando os riscos identificados;
- Aplicao da AMFE para os demais servios da construo civil.
Mediante implementao das sugestes propostas, a empresa ou seguimento
estar neutralizando o risco de ocorrncia de um eventual acidente, ressaltando que
fundamental os treinamentos e capacitao quanto aos riscos, importncia do uso de EPI e
EPC, organizao e higiene nos locais de trabalho, a fim de que o trabalhador seja agente
fiscalizador de sua prpria segurana.
98
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
AGOPIAN, Professor Vahan , vice-presidente do Instituto de Tecnologia da Qualidade na
Construo (ITQC). Disponvel em (http://www.brasilengenharia.com.br/
reportconstrucao534.htm). Acesso em 12de novembro de 2006.
ALBERTON, Anete. Uma metodologia para auxiliar no gerenciamento de riscos e na
seleo de alternativas e investimentos em segurana. Dissertao (Mestrado).
Santa Catarina: Universidade Federal de Santa Catarina/ Escola de Engenharia de Produo,
1996. Disponvel em: < http://www.eps.ufsc.br/disserta96/anete/cap5/cap5_ane.htm > Acesso
em: 10 de novembro de 2006.
LVARO, Zocchio.Poltica de segurana e sade no trabalho: elaborao, implantao,
administrao. So 99Paulo: LTr, 2000.
ANDRADE, R. S., BASTOS, A.B. Qualificao entre empregados da construo civil:
uma avaliao, pelos empregados, de uma experincia organizacional.1999.
Disponvel em: <http://www.ufba.br/conpsi/conpsi1999/P183.html> Acesso em : 20 de
agosto de 2006.
ANURIO BRASILEIRO DE PROTEO/00. Novo Hamburgo: MPF Publicaes, 2000.
113p.
BARROS JNIOR, J.C., ONO, R.F., BIN, E., ROBAZZI, M.L.C.C. Preveno de acidentes
na construo civil em Ribeiro Preto. So Paulo: Rev. Bras. Sade Ocup. v.18, n 71,
p. 9-13, 1990.
BRASIL. Segurana e Medicina do Trabalho. Manuais de Legislao Atlas, 16. 42 ed. So
Paulo: Atlas, 1999.
BRASIL. Ministrio do Trabalho. Segurana e Sade no Trabalho. Anlise de acidentes
de trabalho, 2001. Disponvel em:
<http://www.mte.gov.br/Temas/SegSau/analise/dados2001/Conteudo/287.pdf.> Acesso em:
27 de agosto de 2006.
BRASIL. Presidncia da Republica. Legislao, 2003. Leis. Disponvel em:
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8213cons.htm> Acesso em: 22 de janeiro
de 2007.
CADERNO INFORMATIVO DE PREVENO DE ACIDENTES. CPR-PB: sete anos de
luta pela melhoria das condies de trabalho nos canteiros de obra. So Paulo: v.
24, n. 285, p.54-57, 2003.
CARDELLA, Benedito. Segurana no Trabalho e Preveno de Acidentes. Uma
Abordagem Holstica. So Paulo: Atlas, 1999.
CARVALHO, Alexandre e FROSINI, Luiz Henrique. Segurana e sade na qualidade e no
99
meio ambiente. Revista Controle da Qualidade. n 38. So Paulo: SP, 1995.
CARVALHO, Ricardo Jos Matos, et al. Condies de trabalho na construo de
edificaes no tringulo Crajubar CE. In: XVIII Encontro Nacional de Engenharia
de Produo. 6 p. Anais... CD Rom. Rio de Janeiro: RJ, 1998.
CORDEIRO, C. C. C., MACHADO, M. I. G. O perfil do operrio da Indstria da
construo civil de Feira de Santana: requisitos para uma qualificao profissional.
Rev. Univ. Est. Feira de Santana, n.26, p.9-29, 2002.
COSTA, S. T. F. L. da. Desenvolvimento de Critrios para o Diagnstico da Segurana
Ocupacional: um estudo de caso na Construo Civil. Dissertao de Mestrado em
Engenharia de Produo, UFSC, Florianpolis, 2004.
COSTELLA, Marcelo F. Anlise dos acidentes do trabalho e doenas profissionais
ocorridos na atividade de construo civil no Rio Grande do Sul em 1996 e 1997.
Porto Alegre, 1999. 150 p. Dissertao de Mestrado em Engenharia (Civil), Universidade
Federal do Rio Grande do Sul.
CRUZ, S. O ambiente do trabalho na construo civil: um estudo baseado na norma.
Santa Maria, 1996. Monografia (Especializao em Engenharia de Segurana do
Trabalho) - Programa de Ps- Graduao em Engenharia de Produo, UFSM.
DAMIO, Mary-Else Moreira. Controle das perdas em canteiros de obras: uma
contribuio da engenharia de produo para a melhoria das condies de
trabalho e aumento da produtividade. Joo Pessoa, 1999, 129 p. Dissertao (Mestrado em
Engenharia de Produo) Universidade Federal da Paraba.
DIESEL, Letcia, et al. Caracterizao das doenas profissionais na atividade de
construo civil de Santa Maria RS. In: XXI Encontro Nacional de Engenharia de
Produo. 6 p. Anais... CD Rom. Salvador: BA, 2001.
DE CICCO, Francesco. & FANTAZINNI, Mrio Luiz. Introduo engenharia de
segurana de sistemas. 2.ed. So Paulo, FUNDACENTRO, 1982.
DE CICCO, Francesco. & FANTAZINNI, Mrio Luiz. Gerencia de Riscos: A identificao
e anlise de riscos III. Revista Proteo. Caderno gerncia de risco n 4, Novo
Hamburgo, n.30,1994.
FUNDACENTRO. A Segurana, Higiene e Medicina do Trabalho na Construo Civil.
So Paulo, 1980.
FUNDACENTRO . Curso de Engenharia do Trabalho. So Paulo, 1981.
FUNDACENTRO. Condies e meio ambiente de trabalho na indstria da construo:
NR- 18. Braslia, 1995.
HAMMER, Willie. Product Safety Management and Engineering. Prentice -Hall,
Englewood Cliffs - NJ, USA, 2.ed., 1993, 324 p
100
HENLEY, Ernest J., KUMAMOTO, Hiromitsu. Reliability engeneering and risk
assessment. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1981.566p.ISBN-0-13-772251-6
KLETZ, Trevor A. Eliminao dos riscos oriundos dos processos. Traduo e adaptao de
Andr Leite Alckmin. So Paulo: APCI, RODHIA S.A., 1984. 35 p.
LIMA JR., J.M. Legislao sobre segurana e sade no trabalho na indstria da
construo.In: CONGRESSO NACIONAL SOBRE CONDIES E MEIO
AMBIENTE DO TRABALHO NA INDSTRIA DA CONSTRUO, 2, 1995, Rio de
Janeiro, RJ. Anais... Rio de Janeiro: FUNDACENTRO, 1995.
LO, Tommy Y.. Sefety: An element of quality management. in Implementation of Safety
and Health on Construction Sites Proceedings of the first international conference of
CIB working commission W99. Lisboa. Portugal, 1996.
LOPES, Jos Luiz. Preveno/No s falhas. Revista Proteo. Novo Hamburgo: n.83,1998.
MARTEL, H.; MOSELHI, O.. Construction safety management: a canadian study. AACE
Transactions, 1988.
MALHOTRA, N. K.Pesquisa de marketing: uma orientao aplicada. 3. ed. Porto Alegre:
Bookman, 2001.
MARTUCCI, Ricardo. Projeto tecnolgco para edificaes habitacionais: utopia ou
desafio? So Paulo, 1990. 438p. Tese (Doutorado) - Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo, Universidade de So Paulo.
MINISTRIO DAS CIDADES. Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do
Habitat. Disponvel em: http://www.cidades.gov.br/pbqp-h/Apresentao.htm.
Acesso em: 14 de setembro de 2006.
NBREGA, David Gomes de Arajo. Aplicabilidade de sistemas de informaes
gerenciais, na construo civil, subsetor de edificaes, sob o enfoque da sade e
segurana do trabalho. Joo Pessoa, 2004, 143 p. Dissertao (Mestrado em Engenharia de
Produo) Universidade Federal da Paraba.
OLIVEIRA, Maria Ceclia, MAKARON, Oflia M. Simes de M.. Anlise de rvore de
falhas. Coordenao: AWAZU, Lus Antnio Mello. So Paulo: CETESB, 1987. 21p
PACHECO, Jr. Waldemar, PEREIRA, Vera Lcia Duarte do Valle. Apostila de Metodologia
cientfica. Florianpolis : Santa Catarina, 2003.
PIZA, Fbio de Toledo. Informaes bsicas sobre sade e segurana no trabalho. So
Paulo: CIPA, 1997. 119p.
PORTO, Marcelo Firpo de Souza .Cadernos de Sade do Trabalhador. Anlise de riscos nos
locais de trabalho: conhecer para transformar. Pesquisador do
Centro de Estudos da Sade do Trabalhador e Ecologia Humana da Escala Nacional de
Sade Pblica da Fundao Oswaldo Cruz (CESTEH/ENSP/FIOCRUZ).
101
REVISTA ENGENHARIA. Edio 534,1999.
RIGOTTO, R.M. Sade dos trabalhadores e meio ambiente em tempos de globalizao e
reestruturao positiva. Rev. Bras. Sade Ocup., v.25, n.93/94, p.9-20, 1998.
ROLIM, Giovana de Almeida Marques. Controle das condies de sade e segurana do
trabalho ns indstria da construo civil: um estudo multicaso. Joo Pessoa, 2004,
119 p. Dissertao (Mestrado em Engenharia de Produo) Universidade Federal da
Paraba.
SAURIN, Tarcsio Abreu; GUIMARES, Lia Buarque de Macedo. Integrao da
segurana no trabalho ao processo de planejamento e controle da produo na
construo civil. In: X Congresso Brasileiro de Ergonomia. 8 p. Anais... CD Rom. Rio de
Janeiro: RJ, 2000.
SOUZA, Evandro Abreu de. O treinamento industrial e a gerencia de riscos. Uma
proposta de instruo programada. Captulo 2. Dissertao de mestrado.UFSC, 1995.
Engenharia de Produo. Disponvel em: <
http://www.eps.ufsc.br/disserta/evandro/capit_2/cap2_eva.htm > Acesso em: 12 de
novembro de 2006.
TAIGY, Ana Cristina. Perfil das inovaes tecnolgicas na construo civil: subsetor de
edificaes em Joo Pessoa. Joo Pessoa, 1991. Dissertao (Mestrado em Engenharia
de Produo) Universidade Federal da Paraba.
THOMAZ, E. Tecnologia, Gerenciamento e Qualidade na Construo. So Paulo: PINI,
2001.
TRIVIOS, Augusto Nibaldo Silva. Introduo pesquisa em cincias sociais: a pesquisa
qualitativa em educao. So Paulo: Atlas, 1987.
VALENA, Samantha Leandro. Rotatividade da mo de obra de nvel operacional no
mbito dos sistemas de gesto da qualidade um estudo multicaso em empresas de
construo de edifcios. Joo Pessoa, 2003, 129 p. Dissertao (Mestrado em Engenharia de
Produo) Universidade Federal da Paraba.
VRAS, Juliana Claudino, et al. Comunicaes de acidentes de trabalho: uma anlise
particular dos acidentes da construo civil no estado de Pernambuco. In: XXIII
Encontro Nacional de Engenharia de Produo. 8 p. Anais...CD Rom. Ouro Preto: MG, 2003.
YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e mtodos. 2. ed. Porto Alegre: Bookman,
2001.
Endereos eletrnicos consultados:
http://www.cidades.gov.br/pbqp-h/Apresentao.htm - Acesso em: 05 de julho de 2006.
http://www.abnt.org.br/default.asp?resolucao=1024X768 - Acesso em: 20 de agosto de 2006.
102
http://www.bauru.unesp.br/curso_cipa/3_seguranca_do_trabalho/1_acidentes.htm - Acesso
em: 20 de agosto de 2006.
http://www.areaseg.com/segpedia/ - Acesso em: 20 de agosto de 2006.
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=/sms/index.html&conteudo=./sms/s.
eg.html#sesm - Acesso em: 24 de agosto de 2006.
http://www.habitare.org.br - Acesso em: 24 de agosto de 2006.
http://coralx.ufsm.br/ctism/perguntasst.html - Acesso em: 24 de agosto de 2006.
http://www.fundacentro.gov.br/CTN/noticias.asp?Cod=316 - Acesso em: 15 de setembro de
2006.
http://www.abrasil.gov.br/avalppa/RelAvalPPA2002 - Acesso em: 15 de setembro de 2006.
professores.unisanta.br/valneo/apoio/tecnicasdeanalisederisco.doc Acesso em: 10 de
novembro de 2006.
http://www.dataprev.gov.br/ - acesso em: 16 de novembro de 2006.
http://www.mte.gov.br/Empregador/segsau/Conteudo/7307.pdf - Acesso em: 19 de
novembro de 2006.
http://www.deciv.ufscar.br/sibragec/trabalhos/artigos/118.pdf - Acesso em: 21 de novembro
de 2006.
Você também pode gostar
- Gestao Do ConhecimentoDocumento98 páginasGestao Do Conhecimentoelifarias100% (5)
- APPCCDocumento47 páginasAPPCCDaniela CordeiroAinda não há avaliações
- ENGEMAN - Guia Pratico Plano Manutencao PDFDocumento32 páginasENGEMAN - Guia Pratico Plano Manutencao PDFAnonymous 1i8lWtZxAinda não há avaliações
- RQ.18 - Plano de Qualidade de Obra RV 03Documento18 páginasRQ.18 - Plano de Qualidade de Obra RV 03Kélcio MaruyamaAinda não há avaliações
- Avaliação de Geografia 3a. SérieDocumento4 páginasAvaliação de Geografia 3a. SérieMeida SoaresAinda não há avaliações
- Análise Preliminar de Risco (Expediçã-Depósito)Documento2 páginasAnálise Preliminar de Risco (Expediçã-Depósito)Karen PriscilaAinda não há avaliações
- ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO (Chapa)Documento1 páginaANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO (Chapa)Karen PriscilaAinda não há avaliações
- Como Levantar e Manusear Cargas ManualmenteDocumento3 páginasComo Levantar e Manusear Cargas ManualmenteKaren PriscilaAinda não há avaliações
- Trabalho Sobre CorantesDocumento9 páginasTrabalho Sobre CorantesKaren PriscilaAinda não há avaliações
- Relatório Final 08-10 FinalDocumento34 páginasRelatório Final 08-10 FinalRogerAinda não há avaliações
- Plano Lubrificação WEGDocumento16 páginasPlano Lubrificação WEGrobsonsab2Ainda não há avaliações
- ISO 14062 - EmbalagensDocumento19 páginasISO 14062 - EmbalagensAnderson Douglas NunesAinda não há avaliações
- (1o. e 2o. CAPÍTULOS) "FAMÍLIA, PÁTRIA E TRABALHO": A Constituição Do Centro Operário Cívico e Beneficente (1929-1930)Documento109 páginas(1o. e 2o. CAPÍTULOS) "FAMÍLIA, PÁTRIA E TRABALHO": A Constituição Do Centro Operário Cívico e Beneficente (1929-1930)Roberto PocaiAinda não há avaliações
- Produtos BigferDocumento191 páginasProdutos BigferGilvaneSilvaAinda não há avaliações
- Modelo Sociotécnico de TavistockDocumento2 páginasModelo Sociotécnico de TavistockAna Catarina MorgadoAinda não há avaliações
- Fenasucro: A Voz Do AgronegócioDocumento72 páginasFenasucro: A Voz Do AgronegóciojoaoAinda não há avaliações
- Análise Térmica em Fornos de Produção de Carvão VegetalDocumento10 páginasAnálise Térmica em Fornos de Produção de Carvão VegetaljosbarbosaAinda não há avaliações
- MEDEIROS, Carlos A. - O Desenvolvimento Tecnológico Americano No Pós-Guerra Como Um Empreendimento MilitarDocumento27 páginasMEDEIROS, Carlos A. - O Desenvolvimento Tecnológico Americano No Pós-Guerra Como Um Empreendimento MilitarGuilherme Celestino Souza SantosAinda não há avaliações
- Historia RTMDocumento9 páginasHistoria RTMLeonardo PereiraAinda não há avaliações
- Aula08 - Processos de ConformaçãoDocumento27 páginasAula08 - Processos de ConformaçãoLucas RaithsAinda não há avaliações
- Ferramentas Da Qualidade PDFDocumento2 páginasFerramentas Da Qualidade PDFTerranceAinda não há avaliações
- Indicadores Sociais e Planificação Do Desenvolvimento Rattner H.Documento7 páginasIndicadores Sociais e Planificação Do Desenvolvimento Rattner H.Giovan SantanaAinda não há avaliações
- Projetos de Sistemas ConstrutivosDocumento77 páginasProjetos de Sistemas ConstrutivosMarcos Rodrigues PintoAinda não há avaliações
- Ficha Historia 9 ClasseDocumento6 páginasFicha Historia 9 ClasseDelton Neves100% (1)
- Fruticultura - Situacao Da Cultura Da Acerola No BrasilDocumento16 páginasFruticultura - Situacao Da Cultura Da Acerola No BrasilWandercleyson SilvaAinda não há avaliações
- A Corte No BrasilDocumento4 páginasA Corte No BrasilFernando Antifascista VieiraAinda não há avaliações
- (BenchMarking) Ebook O Guia Definitivo de Como Ser Propagandista 3.0Documento73 páginas(BenchMarking) Ebook O Guia Definitivo de Como Ser Propagandista 3.0MarceloAinda não há avaliações
- Transporte de Calcario Por CabosDocumento61 páginasTransporte de Calcario Por CabosRoberto SouzaAinda não há avaliações
- Aula 1 - Introducao A Administracao Da Producao e OperacoesDocumento34 páginasAula 1 - Introducao A Administracao Da Producao e OperacoesDimas FranciscoAinda não há avaliações
- 1 Os Impactos Ambientais No Setor de Energia Elétrica Brasileiro e A Sua Relação Com o Resultado Líquido Do ExercíciDocumento15 páginas1 Os Impactos Ambientais No Setor de Energia Elétrica Brasileiro e A Sua Relação Com o Resultado Líquido Do ExercíciSusana DiasAinda não há avaliações
- Tudo Sobre Placas de Circuito ImpressoDocumento5 páginasTudo Sobre Placas de Circuito ImpressoluisalvarezvalienteAinda não há avaliações
- Empilhadeiras - Alerta NIOSHDocumento9 páginasEmpilhadeiras - Alerta NIOSHVagner VisentinAinda não há avaliações
- Manutenção Preventiva - Engeman®Documento3 páginasManutenção Preventiva - Engeman®Engecompany Engenharia de SistemasAinda não há avaliações
- Fatores Distribuição Da PopulaçãoDocumento13 páginasFatores Distribuição Da PopulaçãosaloméribeiroAinda não há avaliações