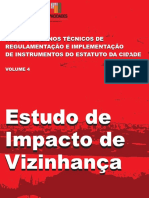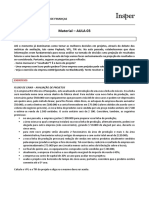Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Adocao Do Partido em Arquitetura
Adocao Do Partido em Arquitetura
Enviado por
Endy RamosTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Adocao Do Partido em Arquitetura
Adocao Do Partido em Arquitetura
Enviado por
Endy RamosDireitos autorais:
Formatos disponíveis
o
O
-
l-
a:
c.
O
c
O
1
O>
O
t. c
. . .
a::
:J
-
:J
O
a::
z
-- - --- -------
' -, ... .
l
_ .
,
;;9
", '~
/ /
\
-----, ---_.
Arquiteto e Professor Adjunto da Faculdade de Arquitet4ra
da Universidade Federal da Bahia
Uni ver si dade Feder al da Bahi a
Re itor
Pr af . J o~e Roger i o da Cost a Var gens
Vice-Reitor
Nadj ~ Mar i a Val ver de Vi ana
Coor denador do Cent r o Edi t or i al e Di di t i co em cxeTci ci o
Fl vi a Goul ar t M. Gar ci a Rosa
An~el a Dant as Gar ci B Ro~a
.Chefe d3 Grfica ln\'CTSi trill
Mar i a Candi da Mai f f r e Mat os
~.
RC"J iso
i Mar i a da Concci ~o de O. Lopes
.
"-
LAERT PEDREIA'~EVES
ADOO DO PARTIDO
NA ARQUITETURA
."
Salvador
Centro Editorial e Didtico da UFBA
1989
- ,
t '
r' " . .
Capa: 'ngla Dantas G. Rosa
.' SUMRIO
1 -
- APRESENTAAO , 9
2 - PLANEJ AMENTO ARQUITETNICO 11
3' -
- TEMA ARQUITETONICO 15
4 - PARTIDO ARQUITETNICO 17
Neves, Laert Pedreira
N518 Adoo do partido na arquitetura I Laert Pedreira
Neves. - Salvador: Centro Editorial e Didtico da UFBa.,
1989.
206. p. : il.
1. Planejamento arquitetnico. I. Universidade Fede-
ral da Bahia. Centro Editorial e Didtico. 1 1 . Ttulo.
CDD 729
CDU 72.001.63
Biblioteca Central da UFBA.
PRIMEIRA ETAPA
COLETA E ANLISE DAS INFORMAES BSICAS
5 - ASPECTOS CONCEITUAIS DO TEMA
51 - INTRODUO 21
PRIMEIRO PASSO
5.2. - CONCEITO DO TEMA 23
SEGUNDO PASSO
5.3. - CARACTERIZAO DA CLIENTELA EDAS FUNES 26
TERCEIRO PASSO . .
5.4. - PROGRAMA ARQUITETNICO 29
QUARTO PASSO
5.5. - RELAES DO PROGRAMA 37
QUINTO PASSO
5.6 - PR-DIMENSIONAMENTO DO EDIFCIO 54
5.7. - RESMO : 70
6 - ASPECTOS FSICOS DO TERRENO ESCOLHIDO
6.1. - INTRODUO 73
SEXTO PASSO
6.2. - ESCOLHA DO TERRENO 75
SETIMO PASSO
6.3- PLANTA DO TERRENO 85
6.4 -' CARACTERSTICAS DO TERRENO 89
OITAVO PASSO
6.4.1 - FORMA E DIMENSO 89 .
NONO PASSO
6.1.2 - CONFORMAO DO RELEVO 93
DECIMO PASSO
6.1.3 - ORIENTAO QUANTO AO SOL 97 -
DECIMO PRIMEIRO PASSO
6.4.4 - ORIENTAO QUANTO AOS VENTOS ..... 104
DCIMO SEGUNDO PASSO
6.4.5 - ACESSOS , 109
i
I
I
.i
I
I
DCIMO TERCEIRO. PASSO.
11.5- RELAES Co.M o. ENTo.RNo. 113
DCIMO QUARTO. PASSO.
- 115
6.6 - LEGISLAAo. PERTINENTE .
6.7 ....:... RESUMO. 118
.
SEGUNDA ETAPA
ADOO DO PARTIDO ARQUITETNICO
7 - IDIAS BSlCASPARA A ADOo. DO PARTIDO
7.1 - INTRo.DUo. 121
7.2 - DECISES DE PROJ ETO. 123
7.3 - IDIAS DOMINANTES 126
7.4 - IDIAS E PLANO. ........................................................... 128
7.5 - LINGUAGEM DO PARTIDO. 132
8 - IDIAS NOS PLANOS HORIZONTAIS
8.1 - NMERO DE PAVIMENTOS 137
8.2 - DISPOSiO DOS SETORES 141
8:3 - DISPOSiO E DIMENSES DOS SETORES 150
8.4 - ELEMENTOS DE LIGAO : 152
8.5 - DISPOSiO DOS ELEMENTOS DO PROGRAMA 156
8.6 - SITUAO NO TERRENO 162-
8.7 - IDIA DE COBERTURA 164
8.8 - IDIA DO. SISTEMA ESTRUTURAL 170
8.9 - IDIA DA FORMA 176
9 - IDIAS NOS PLANOS VERTICAIS
- O 180
9.1 - DlSPOSIo.ES VERTICAIS DO PARTI0 .
9.2 - DISPOSiO VERTICAL INTERNA 182
9.3 - DISPOSiO VERTICAL EXTERNA 188
10 - AJ USTETRl-DlMENslo.NAL DAS IDIAS
10.1'- AJ USTE DAS IDIAS 198
J 0.2 - OUTROS AJ USTES , 199
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS "........................... .1e7
I
l
1- APRESENTAO
o. ~artido, na arqu~tetura, compreendido co~o aidia preliminar
do :dlflGIO proJ etado. ,-,ombase nessacompreensao, eVlsando suprira
carencla blbllograflca sobre o assunto, foi elaborado estetexto, um
manual simples e prtico, contendo os passos essenciais a serem
dado~ pelo projetista para a idealizao do .partido arquitetnico.
Adoa0 do Partido na Arquitetura o mtodo de escolha dessa idia
preliminar.
So concebidas aqui duas etapas para se proceder adoo do
partido. Uma, do conjunto das informaes indispensveisqueoproje-
tlsta precisa saber para idealizar o partido e, aoutra, dos procedimen-
tos necessrios adoo. .
Adoo do Partido naArquitetura contm, naessncia, as informa-
es que ensinam o modo como percorrer o caminho que levaao ato de
projetar. Com essa tica, d-se nfase ao mtodo de projetar. porque
acreditamos ser mais importante, ao iniciante, aprender o modo como
.idealizar o projeto, independente de qual seja o tipo de edifcio a ser
projetado,. do que aprender, desde logo, afazer tal ou qual tipo espec-
fiCO de projeto.
Entendemos que quem aprende o mtodo de projetar saber, com
certeza, conduzir-se com desenvoltura naelaborao dequalquer tipo
de proJ eto, por mais difcil ou complicado que ele seja.
Ressaltamos aqu outro aspecto da questo, que ado sgnificado
do mtodo. E evidente que cada projetista experiente naprtica deela-
borar projeto arquitetnico desenvolve ummodo especial epessoal de
projetar. Umaenqueteeotreeles revelaria, comcllrteza, uma variedade
de mtodos sendo praticada, inclusive, o sem-mtodo. Na realidade
no existe mtodo que seja melhor ou mais eficiente para aidealizao
do partido. Qualquer mtodo que leve o projetista ao objetivo 'til e
vlido.
O mtodo visa basicamente servir de referencial de anlise edire-
triz de procedimento na ordem das idias, na manipulao das vari-
veis do projeto, para que o projetista possa utiliz-Iassimultaneamente
na atitude de sntese arquitetnica.
Para o iniciante na prtica de projetar, aquem o texto sedestina, o
mtodo importante para auxili-lo apercorrer o caminho que o leve a
,
r . ." " ' ; : , , ' ,.rt", ""; """;" .;'" '"' 00"'''''' "'. "," ,. ",.
cinar com todas as var iveis envolvidas slmultaneamen. lc. Ado~o do
Par tido na Ar quitetur a alm de ser ummtodo simples. ede fac, l com-
pr eenso. per mite distinguir todos os passos aser em seguidos. dlln, -
nui as dificuldades iniciais de quem comea. estabelec. endo uma
seqncia de atos conseqentes que vo do ponto , n, c, al ate ooblet' vo
final. Com a pr tica do mtodo eo desenvolvimento da cap~ac, dade de
adoo do par tido, o pr ojetista dever ir eliminando pr oced, mentus e
passos e manipulando as inm~r a~var.iveis slmultane?nJ l; ~nt~. ",?Ill
embar ao edescobr indo seu pr opr , o me!odo. . . ' o,
Na essencia, e acima de tudo. Adoac do Par t, do n" lI, q' . l, t tur a
visa pr opiciar um meio do pr ojetista descobr ir e desenvolver suas
qualidades inatas de elabor ador de pr ojeto. . . . ' .
Adoo do Pa 1ido naAr quitetur a destll1a-se aoII1' Clantenapr ~dca
de pr ojetar e, demodo especial, aotr einamento do estudante dos nlvels
iniciais - um, dois etr s -, do elenco das o, to d, sclplinas de Plane-
jamento Ar quitetnico do Cur r iculo do Cur so deAr qUItetur a da Univer -
sidade Feder al da Bahia, onde o autor ensll1a. . '
Cada passo dado no caminho da adoo do par tido eacompanha-
do de exemplos pr ticos ede exer cicins teis par a esclar ecer emelho-.
r ar a compr eenso do texto.
10
~: /-
2- PLANEJAMENTO ARQUITETNICO
Admitamos como ver dadeir os. dois conceitos impor tantes. O pr i-
meir o o de que pr ojetar seja o ato de idealizar algo a ser feito. E o
segundb o deque pr ojeto seja odocumento demonstr ativo desse algo
idealizado.
Agor a, apliquemos esses conceitos ar quitetur a. Pr ojetar , na
tica ar quitetnica, significa idealizar oedifcio aser constr uido. Epr o-
jeto r epr esenta o documento explicativo do que deve ser o edificio
pr ojetado. O pr ojeto , por tanto, o pr oduto do ato qe Rr oletar . E~e.
documento, o pr ojeto, compe-se de umconjunto de plantas, contendo
os desenhos do edificio. Odesenho alinguagem pr pr ia par a explicar o
pr ojeto ar quitetnico.
impor tante r essaltar que pr ojetar umedificio , naessncia, o ato
de cr iao que nasce na mente do pr ojetista. fr uto da imaginao
cr iador a, da sensibilidade do autor , de sua per cepo e intuio pr -
pr ias. r esultado do tr abalho do pensamento. Sendo assim, constitui-
se emalgo de difcil contr ole, inter fer ncia eor denamento. Entr etar . to,
pr ojetar em ar quitetur a, semdvida, ato cr iativo de sntese, r esultado
do pr ocesso de mentalizao no qual se conjugam var iveis pr evia-
mente estudadas par a obter -se o r esultado final: o pr ojeto. Par tindo-se
desse r aciocnio, admite-se que per feitamente possvel estabelecer
uma or dem de pr ocedimentos capaz de alimentar amente do pr ojetista
de estimulos par a ar ealizao do tr abalho cr iativo. Infer e-se dessa pr e-
missa a questo seguinte: como possvel, ento, or denar o pensa-
mento do pr ojetista par a pr oduzir o par tido ar quitetnico? Essa a
questo bsica tr atada aqui. A r esposta r equer seguir o caminho dos
r aciocnios da adoo do par tido. Ele est inser ido no pr ocesso de pla-
nejamento ar quftetnico que comea numa pr imeir a etapa, a indutiva,
ade conduzir o pensamento dasde o ponto inicial. ode auer er elabor ar
o pr Ojeto, ar mazenando eanalisando infor maes. Passandosegun-
da etapa, a cr iativa. quando a mente desencadeia o pr ocesso de sn-
tese, dando como r esposta aidia da soluo ar quitetnica, aodesafio
cr iado. E indo ter ceir a etapa, ada evoluo da idia, que ao mesmo
tempo ir r dutiva e cr iativa, na qual a idia ar quitetnica esboada na
etapa anter ior aper feioada, nos diver sos aspectos envolventes, at
chegar ao ponto final, da concluso do pr ojeto.
11
.. primeira vista, o ato de projetar poeteparecer uma tarefa diflcil e
complicada, mas possvel alcanar-se essa sntese criativa apren-
dendo-se a percorrer o caminho, do comeo ao fim, desde a coleta e
anlise das informaes at afase criadora, quando ascondies ade-
quadas "exploso" da sntese criativa so criteriosamente criadas. O
caminho a percorrer o meio por onde seestrutura o quadro referen-
cial dos requisitos indispensveis elaborao do partido, estabele-
cendo-se as regras, os parmetros, as variveis enfim, com as quais a
mente criativa trabalha, num campo de referncias concretas, para
alcanar o ato criador. Percorrendo este caminho, usando as refern-
cias, segundo umordenamento seqenciado econseqente, etapa por
etapa, passo apasso, numprocesso evolutivo do pensamento.chega-se . ~
ao ato de criar opartido arquitetnico, obviamente. Omais que segue a:"
esse ato o aprimoramento da idia.
A ao de projetar denominada planejamento arquitetnico e
est organizada nas seguintes etapas: aprimeira, dacoleta edaanlise
das informaes bsicas, visa dotar o projetista dos dados tericos.
necessrios adoo do partido. ado estabelecimento das regras do'
jogo, do uso dos parmetros, da manipulao das variveis. As infor-
maes dessa etapa so, de uma parte, as de natureza conceitual, as
referentes s variveis tericas, de conceito. E de outra parte, as de
natureza fsico-ambiental, as referentes s variveis do terreno a ser
utilizado. Os dados dessa etapa inicial obviamente podem ser obtidos
de modos diversos. Por meio da discusso com aclientela, por exem-
plo. Pela pesquisa de dados referentes ao assunto obtidos na biblio-
grafia disponvel. Pela discusso com especialistas. Pela visita a
organ izaes simiIares. Pela anal isedeprojetos deedificios comfi nali-
dades idnticas ou similares. At pela intuio do projetista que inter-
preta asociedade e prope uma dada formade organizao davida no
espao arquitetnico. Oupela soma das informaes obtidas portados
esses modos. Essaetapa est explicada nos quatorze primeiros passos
do processo. A segunda etapa do planejamento, a do ato criador, a
que enseja transpor para o papel, para as plantas, na linguagem pr-
pria do desenho, a soluo arquitetnica correspondente formula-
o conceitual do projeto. Estaadenominadaetapa do partido arqui-
tetnico, da sntese criadora. Estaetapa est explicada como aformu-
lao da dia bsica, preliminar do edifcio.
Aterceira eltima etapa do planejamento adasoluo final, ado
projeto arquitetnico, ado desenvolvimento da idia expressa no par-
tido, produzindo o projeto executivo. Ela tambm aetapa da consoli-
dao de diversas variveis envolvidas no projeto executivo, desde as
de ordem funional edimensionais dos espaos atasdeordem tecno-
lgica, esttica, etc que, no partido arquitetnico. esto a:pena~na
forma indicativa. Nesta etapa, devem ser definidas com preciso.
12
f
para. atend<lr s eXiy?nCias da execuo da obra, todas as questes
suscitadas ~Ias vanavels envolvidas no partido.
Neste A.doo do Partido Arquitetnico, trata-se exclusivamente
~as duas pnmel~as etapa~do p,lanejamento arquitetnico, as da an-
lise e coleta das mformaoes basicas eda adoo do partido.
13
: : I - - TEMA ARQUITETNICO
olema arquitetnico a finalidade especifica ou predominante
que serve de motivo para aelaborao do projeto do edifcio.
O planejamento arquitetnico desencadeado a.partir do tema.
Quando o projeto de uma escola, significa dizer que a finalidade
especifica do edifcio ade conter uma instituio educacional, uma
escola. Escolao tema arquitetnico do projeto. Quando oprojetode
um hotel, significa que a finaiidade predominante la hospedagem.
Comumente, no projeto de hotel. existem vrias atividades de comr-
cio eservios almdahospedagem. Hotel , pois. otenia arquitetnico
predominante do projeto. Otema . no planejamento rquitetnico, a
essncia do projeto. Todo projeto aborda umtema. O,a seprojeta um
edifcio para funcionar uma escola; ora para umhospital: para uma
residncia: para alguma atividade comercial: para recreao: para
lazer; para circulao: para trabalho etc. Cada uma de~sas finlidades
significa o tema arquitetnico de cada projeto. Projeto deescola, pro-
jeto de hospital, projeto de residncia. projeto de loja ou de centro
comercial. projeto de quadra esportiva. projeto deequipamentos para
lazer etc..
A temtica arquitetnica muito variada. Ela deve ser to ampla
quanto avariedade das atividades humanas nasociedade. Hdesde o
tema de maternidade, oedificio destinado aabrigar os servios que se
realizam por ocasio de nascimento de beb. at o lema cemitrio. o
edificio deslinado aabrigar os servicos de guarda de mortos. E, entre
esses lemas comfinalidades dispares. enconlra.se uma infinidade de
Oulros lemas.
Oplanejamento arquitetnico temincio. pois. comadefinio do
tema, eo projetista deve saber claramente, de incio. adefinio pre.
cisa do tema aabordar. Quanto mais clara estiver essadefinio, com
mais praciso sedesenvolver o trabalho de planejamento arquitet-
nico. Q'lando falamos da temtica habite.cional. no especificamos o
tema do projeto. visto que o edificio para o uso habitacional corres-
ponde adiversos modos dehabitar. Desdeahabitao unidomiciliar,-
a ca'sa que se destina apenas a uma famlia, como a habitao pluri-
domiciliar, - o edifcio de apartamentos, que sedestina morada de
vrias familias no mesmo edifcio - , at habitao coletiva do tipo
hotel, penso, pousada, motel, albergue, asilo etc..Atemticadeedif-
15
--
r
"t cio destinado atividade de trabalho, tanto pode ser um edificio de
tojas quanto desalas, deescritrio, debanco etc, Otema aorigem do
projeto, 00 tema derivam todos os passos da elaborao do projeto,
A prtica profissional do arquiteto mostra que otema asolicita-
o inicial do cliente, Ao arquiteto prOjetista cabe dar soluo arquite,-
tnica aotema, Significa dizer interpretara tema naforma deedifcio, E
importante salientar aqui que o arquiteto no obrigado a saber, de
inicio, sobre o tema dado, A sua obrigaao profissional saber dar
forma arquitetnica ao (ema, As informaes sobre o tema ele obter
na primeira etapa da adoo do partido arquitetnico, quando vai cole-
tar eanalisar as informaes bsicas para aelaborao do projeto, H
arquitetos que, por trabalharem freqentemente com determinados
temas, especializam-se mais neles, podende, dispor de informaes
que j tenham sido coletadas emoutras ocasies; nestes casos, estes
arquitetos podem simplificar o planejamento arquitetnico. Outra
coisa importante para salientar aqui ade que acada tema deve cor-
responder uma infinidade de interpretaes arquitetnicas, Se for
dado um tema, por exemplo, para "n" arquitetos fazer cada um, um
projeto, evidente que o resultado dar "n" solues arquitetnicas
diferentes para o tema proposto,
Para facilitar a compreenso do texto, so escolhidos alguns
temas para exemplificar as lies do processo de adoo do partido,
Vale salientar que otema apenas ummeio utilizado para aelaborao
do raciocnio projetivo. No importa qual seja o tema, No pretende-
mos com isso, neste Adoo do Partido na Arquitetura, especializar
algom emdeterminado tema, Oque pretendemos eoque acreditamos
seja omais importante queo projetista aprenda comoadotaro partido
arquitetnico, Para isso, qualquer tema serve O mais importante do
aprendizado . ao final, saber como usar o mtodo oqual poder apli-
car aqualquer tema.
Exercicios teis sobre otema:
1- Listar os temas que conhecer,
2-Listardiversos temas comrelao acirculao, lazer, trabalho,
comrcio, prestao de servios eesporte
3- Observar edifcios, para Identificar otema.
16
4- PARTIDO ARQUITETNICO
Compreenda oque partido arquitetnico eoseusignificado,
Denomina-se partido arquitetnico a idia preliminar dOedifcio
projetado.,
Idealizar umprojeto requer, pelo menos, dois procedimentos: um,
emque oprojetista toma aresoluo deescolha, dentre inmerasalter-
nativas, deuma idia que poder servir debaseaoprojeto doedifcio do
tema proposto; eoutro, emque a idia escolhida desenvolvida para
resultar no projeto. Edo primeiro procedimento, odaescolhada idia,
que resulta o partido, aconcepo inicial do projeto do edifcio, afei-
tura do seu esboo, Distinta, portanto, da idia final e conclusiva do
projeto, que resulta do segundo procedimento, do aprimoramento da
idia inicial.
. A o . escolha dessa idia preliminar do edifcio, aopo por umpar-
tido, eato Criativo deslntese, fruto dacombinao dedois conjuntos de
idias. Um, o desenvolvido emconseqncia das inmeras informa-
es bsicas, as quais so obtidas na primeira etapa do planejamento
arquitetnico, j explicadas anteriormente, e o outro, o das idias
desenvolvidas a partir da, acrescidas de decises complementares
tomadas sobre diversos aspectos concernentes edificao ideali-
zada, denominadas de decises de projeto, '
No sentido prtico do planejamento arquitetnico, o partido se
constitui na representao grfica dessa idia preliminar do edifcio,
expressa na linguagem prpria, do desenho arquitetnico.
So vrios os objetivos daelaborao do partido arquitetnico. O
primeiro deles, e o mais importante, justamente o de ser o registro
grfico da idi'a preliminar do edifcio, Alm desse, porm, outros se
identificam como ode ser oinstrumento indispensvel para queopro-
cesso criativo desintese arquitetnica posa efetivar-se numa expres-
so perceptvel. Neste sentido, o ato de desenhar o partido no so-
mente um procedimento mecnico, umservio de desenho, mas um
procedimento de mentalizao, umservio de projetamento, no qual
se fundem oato de desenhar comoato decrar. Outro objetivo do par-
tido odesero instrumento arquitetnico utilizado pelo projetista para
dialogar com ocliente, expressando aidia do edifcio que imaginou e
ouvindo da clientela asua opinio sobre aidia proposta, oatendimen-
to da expectativa e da viabilidade da soluo. Eletambm o instru-
17
mento hbil para compati.bilizar aidia do edificio, como interpretao
arquitetnica, com as diversas implicaes de ordem tecnolgica
(estrutura, instalaes, tcnicas construtivas, materiais para a cons-
truo, problemas espaciais etc.). inerentes soluo. A busca dessa
compatibilizao pode ensejar modificaes naidia. inclusive altera-
es substanciais, quando se torna dificil conciliar os diversos as-
pectos tecnolgicos, e no partido que os ajustes podem ser melhor
encaminhados.
Alm desses objetivos citados, opartido arquitetnico pode cons-
tituir-se numproduto acabado emsi mesmo. que cumpre oseu papel de
expresso de idias. Quando afinalidade da sintese arquitetnica a
especulao sobre a busca de alternativas possivels e de variveis
conhecidas, ele serve. neste caso, como uminstrumento de consulta
. arquitetnica, deespecuiao depossibilidades viveis para atomada
de decises sobre umempreendimento arquitetnico asor realizado.
18
t
t
1
I
PRIMEIRA ETAPA
COLETA E ANLISE DAS INFORMAES BSICAS
- .. ~'~~~~!
~ .'" _.,~ ~ ~ .,J ,..~ :'
'-,~~.~
r
" ~>
,,;;,':-:-~~;
"'
I
1
I
I
~.
[
r
"
I
I
I
5- ASPECTOS CONCEITUAIS DO TEMA
5.1 - INTRODUO
As informaes bsicas conceituais so,de fato, o embasamento
sobre oqual seassentam todas 'asidias do partido arquitetnico. Elas
so a base terica definidora do projeto.
Formular conceitos e estabelecer parmetros referenciais da
teoria sobre otema pode ser,simplesmente, intudo pela mente do pro-
jetista experiente, filosofando sobre avida, asociedade, as pessoas e
suas atividades, numa atitude prospectiva. Certos projetos so feitos
assim, Podem seriruto, tambm, de umtrabalho exaustivo, complexo,
sofisticado, de durao prolongada, comequipe numerosa, indo ata
elucidao de todas as dvidas. Entre esses extremos, entretanto, h
umsem-nmero dediferentes modos de coletar eanalisar dados sobre
o tema, que resultam eficientes. Qualquer queseja amaneira deobten-
o das informaes, ela deve abordar, emsintese, duas ordens distin-
tas de informaes. Uma, referente a aspectos conceituais do tema e
outra, referente aaspectos fsicos do terreno aser utilizado.
A maneira como se pode conseguir essas informaes est expli-
citada aseguir, com os passo~aser!lm dados nessadirel;a.O.s c.inco
primeiros so os que se retrem s informaes dos aspectos concei-
tuais e os nove passos seguintes so os que abordam os aspectos
fsicos do terreno.
As informaes bsicas referentes aos as'pectos conceituais
podem ser sintetizadas nos cinco tpicos seguintes:
1) O conceito do tema;
2) A caracterizao da clientela edas funes;
3) O programa arquitetnico;
4) As re'laes do programa;
5)0 pr-dimensionamento do edifcio.
Com as informaes obtidas nesta etapa, consideradas nos cinco
tpicos referidos antes, dos aspectos conceituais, o projetista dever
saber sobre oseguinte: afinalidade do projeto, definida noconceito do
tema; o tipo de usurio envolvido nele e suas caractersticas, adene>-
minada clientela; as funes eas ativdades aseremexercidas noedi-
fcio; e os correspondentes ambientes arquitetnicos indispensveis
ao exerccio dessas funes e atvidades identi.ficadas, todas elas
21
r
' - ,
:
.1
f
expr essas atr avs dos elementos do pr ogr ama ar quitetnico; as r ela-
es de maior ou menor pr oximidade ou af inidade existentes entr e as
f unes eatividades que aclientela exer cer noedif cio, quer dizer , as
suas inter - r elaes f uncionais, tudo isso tr aduzido emf or ma gr f ica,
emdiagr amas, especialmente emumdenominado def uncionogr ama;
e, f inalmente, as dimenses, r equer idas pelos elementos do pr ogr ama
ar quitetnico, par a atender tambm s r ef er idas f unes eatividades,
r esultando numquadr o comasdimenses, denominado depr - dimen-
sionamento do edif cio, expr essas emmetr os quadr ados der ea. Esse
quadr o a r ef er ncia espacial das inf or maes bsicas.
Siga esses passos.
.. "
PRIMEIRO PASSO
5.2 - CONCEITO DO TEMA
oconceito do tema a def inio da f inalidade par a aqual o edif -
cio vai ser vir .
Entenda comamaior clar eza possvel qual o conceito do tema. O
conceito r esulta da inter pr etao do objetivo e da f uno ou f unes
decor r entes das pr incipais atividades aser el' [l exer cidas nele. Gener i-
camente, o tema hotel, por exemplo, objetiva. o pr ojeto de umedif cio
destinado pr estao de ser vios de hospedagem. O destino f inal
desse edif cio, entr etanto, var ia de hotel par a hotel. Existem diver sos
tpos de hotis, devr ios padr es deconf or to einstalaes, destinados
a diver sos tipos de clientes ede ser vios. A cada umdos tipos de hotel
deve cor r esponder umtipo especf ico de objetivo e, por tanto, umtipo
pr pr io de conceito de hotel. A EMBRATUR classif ica os hotis pelo
tipo de ser vios que pr estae sua qualidade. Essaclassif icao car acte-
r iza o hotel por esse cr itr io, estabelecendo uma hier ar quia, dif er e-
r enciando- os por categor ias que so r epr esentadas com um cer to
nmer o de estr elas, sendo o maiS categor izado o de cinco estr elas, a
par ti r deque sepode compr eender otipo deconceito decada um. Esco-
la, outr o exemplo detema ar quitetnico, ser ve, basicamente, par a f ina-
lidade educacional. Hescolas, entr etanto, de dif er entes nveis de en-
sino que r esultam de dif er entes conceitos de escola e dif er entes m-
todos educacionais utilizados. A escola do ensino de pr imeir o gr au
umtipo que objetiva ministr ar oensino deste gr au dentr o da hier ar quia
do sistema educacional, par a uma clientela na idade desete aquator ze
anos. Oconceito do tema escola do pr imeir o gr au oconceito deensi-
no que essegr au objetiva eoplanejamento ar quitetnico do pr ojeto de
uma escola desse tipo levar emconsider ao esse objetivo, o qual se
distingue dos demais tipos de escolas de outr os gr aus de ensino edos
demais conceitos. Oedif cio gar agem, conceitualmente, o tema que
signif ica o edif cio par a a guar da de veculos. Este o tema que tem
apenas este objetivo. Houtr os temas, entr etanto, que tmvr ios obje-
tivos, diver sos e complexos, exigindo umtr abalho r igor oso par a con-
ceitu- los.
Par a o pr ojetista desenvolver otr abalho de planejamento ar quite-
tnico, impor tante saber que o conceito, ou os conceitos, do tema a
ser abor dado, devem estar def inidos da f or ma a mais clar a e cor r eta
possvel. A f alta de clar eza ou a incor r eo nadef inio do objetivo do
tema poder levar o pr ojetista ater dif iculdades f utur as eat cometer
23
r
er r os de pi ojeto pr falhade conceito. Por outr o lado, abusca de novos
conceitos par a tema conhecido induz o pr ojetista asolues inovado-
r as de pr ojeto. . '
Como pr ojetar for mular hipteses do que acontecer a no futur ?
num dado edifcio, evidente que oato depr ojetar , emar qUItetur a, e_sta
incor por ado de pr evises e, conseqentemente, de r iscos. A~funoes
e atividades que so imaginadas no planejamento ar qultetonlco po-
dem ou no ser exer cidas na r ealidade da edificao. Isso, por m, s
vai s~r obser 'vado depois do pr dio pr onto eposto par a funcionar . Por
isso que afor mulao cor r eta das dir etr izes conceituais de umpr oJ !~-
to de ar quitetur a extr emamente impor tante ed,?acer to dessa for ';1u-
lao depende o bom desempenho da edlflcaao e de sua vida ut".
Essas dir etr izes devem ser equaclonadas do modo mais apr OXimado
daqui lo que poder acontecer nar ealidade, quando opr di,?e~ti~er em
funcionamento. Reconhecemos que emcer tos casos ISSOnaoefacll de
fazer , mas deve ser sempr e tentado. A for ,mulao ter ica, conceitual
cor r et<\ do teml , semdvida, a r esponsavel pelo acer to do pr oJ eto.
A pr tica do planejamento ar quitetnic,? mostr a q~e ~lor mu~ao
conceitual do tema nem sempr e pode ser lelta eposta adlsposlao do
ar quiteto com clar eza e pr ecis~o. Esse umdado pr eocupante par a o
pr ojetista, mor mente por que nao depen.de mUito dele. MUitas vezes as
infor maes so diver gentes, contr adltor las, excludentes ou var iadas.
Ao pr ojetista, nestes casos, cabe adotar umdos co!,celtos eelabor ar o
pr ojeto com base nessa infor mao. Opr ojeto ser a sempr e ainter pr e-
tao do conceito adotado. O pr ojeto de uma escol~, por exemplo,
suscita vr ios conceitos difer entes, decor r entes de var ias inter pr eta-
es pedaggicas e de difer entes mtodo~ educacionais. Acr esce
ainda que, esses mtodos, por sua vez. estao per man:ntemente em
mutao. As or ganizaes vo mudando com a evoluao e mudando
seus objetivos. O tema sade, outr e: exempl,o: envo.lve pelo menos,
duas for mas difer enciadas de atuaao na pr atica medica. Uma, a da
medicina pr eventiva e a outr a, a da med~cina cur ativa. Cada_uma cor -
r esponde a difer entes atividades e funoes e eXigem soluoes ar qUI-
tetnicas difer enciadas na elabor ao do pr ojeto, par a ser vir aumou
outr o conceito e pr oposta. Otema de biblioteca envolve tambm, pelo
menos dois conceitos difer entes defuncionamento debiblioteca. Um,
o da ch'amada biblioteca de livr e acesso. Aquela emque o leitor cir cula
pelos espaos onde esto as estantes de livr os, podendo manuse-los,
tomar contato com o acer vo, descobr ir ttulos que no conhecia. O
outr o Oda chamada biblioteca com depsito de livr os, naqual o leitor
r equi~ita o IiV!9 atr avs das infor mae_s do car dex, do fichr io, n~o
tendo acesso dir eto aos livr os. Estes estao num local onde o leitor nao
pode ir . As solues ar quitetnicas so difer entes conceitualment~
par a cada umdesses tipos de bibliote~a. adifer ena decor r e ~o amb!-
guo conceito utilizado. Ao pr ojetista so cabe for mular asol~ao ar quI-
tetnica adequada ao conceito adotado. pelo menos se nao pode ou
no quer fazer uma nova pr oposta ar quitetnica. Outr o r isco deacer to
24
ou er r o de Pfojeto, que podeocor r er nafor mulao coneit'J ai do lema, '
der iva da per manente mutao na vida da sociedade, quando sur gem'
mudanas conceituais e novas var iveis vo se intr oduzindo a todo
momento. Por isso mesmo a for mulao ter ica de umpr ojeto cor r e
sempr e o r isco de tor nar -se obsoleta esofr er r evises ao longo da sua
exper incia, par a se adaptar aessas mudanas per manentes do com- ,
por tamento humano, de mtodos e or ganizao das atividades que'
exigem do ato de pr ojetar uma boa dose de acer to, de bomsenso ede
,saber pr ever com maior pr eciso possvel o futur o da or ganizao
contida no imvel pr ojetado.
Tomemos umexemplo de conceito. Admitamos otema r esidncia
eque o objetivo seja o de uma casa unidomiciliar par a uso empoca de
ver aneio. Conceitualmente pode-se entender que a casa de ver aneio
destina-se ao uso de uma famlia. O objetivo assim expr esso car acte-
r iza otipo de pr ojeto eodistingue deoutr os tipos depr ojetos par a r esi-
dncia. Ela difer encia-se da r esidncia plur i-domiciliar , o edifcio de
apar tamentos, das r esidncias de uso coletivo tipo hotel, pousada,
penso. motel. alber gue e tambm difer encia-se conceitualmente da
r esidncia par a uso per manente, onde afamlia r eside todo otempo. A
difer ena se r efletir entr e elas na soluo ar quitetnica. Over aneio,
por pr incpio. ummodo de vida infor mal, voltado par a o lazer , onde a
for malidade aser pr eser vada nar esidncia par a usoper manente per de
o valor . Ocompar tamento das pessoas nesse tipo de casa mais livr e,
descontr aido, solto. Essa for ma de vida exige uma soluo ar quitet-
nica pr pr ia. difer ente da r esidncia par a uso per manente. Cada tema
ar quitetnico tem, pois, sua peculiar idade conceitual que deve ser
captada, entendida eexpr essa no pr ojeto.
Tomemos outr o exemplo: pr ojeto de uma igr eja catlica. O tema
expr esso car acter iza o conceito de um edifcio destinado ao r itual
r eligioso da r eligio catlica, distinguindo-se deoutr os pr ojetos par aa
mesma finalidade, de outr as r eligies ou cultos.
Tomemos mais umexemplo: pr ojeto deescola do pr imeir o gr au. O
tema e o ob'jetivo assim expr essos car acter izam o tipo de pr ojeto e o
difer encia de outr os tipos de pr ojetos de escolas. Conceitualmente
entende-se esse tema como o que visa atender a uma or ganizao
educacional par a cr ianas na faxa de idade escolar de sete acator ze
anos. estudantes do cur so de pr imeir o gr au, deensino for mal.
Exerclclos teis sobre conceito do tema:
1-Tr aar o objetivo dos seguintes temas ar quitetnicos: estao
r odovir ia. aer opor to, shopping center , clube, abatedour o, centr o
comunitr io, museu, biblioteca, cr eche. teatr o.
2- Obser var edificos e identificar neles o conceito do tema.
3- Analisar pr ojetos ar quitetnicos eidentificar seus conceitos.
4- For mular novos conceitos par a temas com conceitos conhe-
cidos.
25
SEGUNDO PASSO
5.3.- CARACTERIZAO DA CLIENTELA E DAS FUNES
Aclientela so os usurios ou grupo deusurios maissignificativos
envolvIdos no tema eemseu conceito.
Conhecido otema eoseu conceito, oprojetista deve identificar ou
produzir acaracterizao daclientela edas fun?esine~entes aotema;
A clientela de uma residncia, por exemplo, eafamilla que nela vai
residir, os parentes ou visitas da famlia. A clientela da igreja so os
fiis, os religiosos e os que trabalham na igreja. A clientel~ de uma
escola formada pelos estudantes, professores e funclonanos. De
modo extensivo, podem-se considerar tambm como integrantes da
clientela pais de alunos epessoas da comunidade aque aescola aten-
de, em segundo plano. A caracterizao da clie':!tela , pois, a identi-
ficao das pessoas ou grupos de pessoas que vao usar, predominan-
temente, o imvel. Essa identificao, que representa aeVidenCia do
carter edas propriedades dos usurios ou grupos de us,urios, serve
para detectar asexigncias funcionais bsicas que deverao ser atendi-
das na edificao. .
Admitindo, como hiptese, a elaborao do projeto da casa para
veraneio, acaracterizao da clientela pode ser expressa do seguinte
modo:
Tema: casa de veraneio
Caracterizao da clientela:
a) umcasal; .
b) dois filhos adolescentes;
c) visitas eventuais;
d) umempregado domstico. . .
Obs. No cogitado, no caso, aumento de pessoas nafamllla.
Tomando o exemplo do tema igreja catlica:
Tema: igreja catlica
Caracterizao da clientela:
a) fiis;
b) padre eoutros religiosos;
c) pessoas que cuidam das atividades da igreja.
Tomando o exemplo do projeto da escola do primeiro grau, a
caracterizao da clientela pode ser aseguinte, por hiptese:
Tema: escola do primeiro grau.
Caracterizao da clientela:
a) 240 alunos, de 1~a8~srie, por turno;
b) 30 professores, das diversas matrias do currculo:
26
cl20 funcionrios, encarregados de tarefas da escola;'
d) Outros usuros eventuais, como, pais de alunos, fornecedores,
vendedores, pessoas da comunidade elc. .
A caracterizao da clientela pode ser feita do modo smplificado
tanto quanto osdos exemplos acima, ou de modo mais apurado. Quan-
to mais detalhada for acaracterizao da clientela, mais aprofundado
ser o nvel de nformaes disposio do projetistae mais segurana
trar para a elaborao do projeto.
No exemolo da casa, caracterizao da clientela j feita, podem
inluir, por acrscimo, peculiaridades sobre a forma de vida que a
famlia leva emsua intimidade do lar, seus hbitos etc., eincorpora-Ias
s exigncias do projeto. Osveculos quea famlia tem, avida social que
leva; se intensa, com amigos que freqentam sua casa ou se de uma
famlia introspectiva, limitada asi mesma, aapenas os familiares. Avida
de fim-de-semana edeveraneio, como sedesenvolver no futuro, etc ..
Enfim, colher todas as informaes adicionais da clientela, que deve-
ro ser analisadas, e levando-se emconta as conseqncias que pro-
dziro no projeto.
No exemplo da igreja, caracterizao j feita da clientela, acres-
cem-se os grupos de usurios mais significativos dessa clientela. Os
fiis que vo missa. Os que participam da catequese. Os que se inte-
gram nas atividades voltadas para a melhoria da comunidade. Os gru-
pos de jovens etc.
No caso do projeto da escola, podem-se acrescentar informaes
diversas s que j serviram para caracterizao da clientela. As que
identifiquem o nmero de alunos por turma, os tipos diferenciados de
aulas a serem ministradas, o nmero de professores por turno; suas
funes docentes eadministrativas. A hierarquia dessas funes ase-
rem exercidas. Os procedimentos pedaggicos. Os funcionrios por
turno efunes. E assim por diante.
As escolas tm, alm dessas informaes sobre os objetivos edu-
cacionais, atividades de estudo e leitura, de teatro, de dana emsica,
de ginstica, deesporte e recreao. Hatividades extra-curriculares,
tanto com aparticipao de alunos e professores, quanto com aparti-
cipao da comunidade. Todas essas informaes podem ser uteis
para caracterizar a clientela e definir as atividades e funes a serem
exercitadas nos ambientes arquitetnicos aserem projetados, deven-
do o projeto prever os espaos adequados para elas.
Tratando-se, por outro lado, da caracterizao da clientela de
escola de 10grau que esteja inserida numplanejamento de rede escolar
urbana, h uma srie de outros aspectos aconsiderar, de ordem geral,
no conjunto que elas formam. Naprogramao inicial, deve-se estimar
o volume da clientela potencial que se faz necessrio incorporar na
rede; que capacidade de atendimento adicional necessria para isso;
onde so necessrios os novos edificios educativos para incorporar
essa clientela; que fazer para proporcionar melhor atendimento aos
I
" J
alunos atuais. No plnejamElnto da rede escolar, para considerar o
aspecto referente varivel clientela e suas relaes com a rede e o
espao urbano, faz-se necessrio estabelecer as caractersticas scio-
econmicas da clientela, o seu volume, as tendncias da clientela na
vigncia do plano, o volume da matrcula atual e aestimada, aacessi-
bilidade casa-escola, ea cobertura territorial pela rede escolar.
Funo, no planejamento arquitetnico, aatividade principal ou
o conjunto das atividades exercidas para atender adeterminada neces-
sidade vital, num espao arquitetnico. Atividade a ao desenvol-
vida para satisfazer a uma ou mais dessas necessidades. A funo
cozinhar de uma residncia, por exemplo, envolve vrias atividades,
como, as de armazenar alimentos duradouros eperecveis, de limpeza
epreparo dos alimentose de coco. Todas essas atividades podem ser
exercidas num s ambiente arquitetnico comumente denominado de
cozinha, ou de copa-cozinha, onde deve haver, pelo menos, alguns
mveis e equipamentos para que essas atividades sejam executadas,
como, a geladeira, o fogo, o armrio, a bancada c'ompia etc. Outro
exemplo: a funo alimentar numa residncia, envolve as refeies
dirias da famlia, do caf da manh, do almoo, do jantare podem ser
exercidas num ambiente arquitetnico preparado para essa funo,
denominado desala das refeies, ou sala dealmoo, ou sala dejantar,
onde esto os mveis eequipamentos prprios para aexecuo dessas
atividades: mesa, cadeiras, armrios etc. Noutro edifcio, onde afun-
o comer temoutro conceito, outro objetivo, num hotel, por exemplo,
ela pode ser exercida num espao arquitetnico comumente denomi-
nado de refeitrio ou no restaurante e envolve atividades diversas de
comer e beber. .
A caracterizao das funes de determinados temas, quando a
organizao que vai funcionar no edifcio tem atividades definidas de
modo preciso eseqenciado, como num processo de produo indus-
trial, pode ser expressa naforma de "Iay-out", umesquema daseqn-
cia das atividades eda disposio ordenada dos equipamentos einsta-
laes.
A caracterizao das funes, emsntese, decorre numnvel geral
do objetivo do tema e, no nvel Particular, d.ascaractersticas da clien-
tela e das suas atividades. Essa caracterizao servir de referncia
bsica para a definio dos ambientes ou 'elementos do programa
arquitetnico, o qual ser tratado no terceiro passo.
Exerccios teis sobre acaracterizao da clientela e das funOes
. .1- Caracterize a clientela dos seguintes temas: clube, museu,
biblIOteca, creche, teatro, posto desade, shopping center, aeroporto;
2- Tente caracterizar aclientela de alguns edifcios conhecidos'
3- Tente identificar a clientela de alguns projetos de edifcios. '
. 4-Caracterize as atividadesefunes dos temas citados no item1
aCima.
5~ Tente caracterizar as funes e atividades de algum edifcio
conheCido.
.6 - Tente .descobrir a razo de funes identificadas em algum
projeto de edlflClo.
28
TERCEIRO PASSO
5.4 -PROGRAMA ARQUITETNICO
oprograma arquitetnico a relao de todos os cmodos am-
bientes, ou elementos arquitetnicos previstos para oedifcio. '
Oprograma traduz, sob aforma de umelenco deelementos arqui-
tetonlcos, os espaos onde se desenvolvero as funes e atividades
previstas para otema, levando emconta ascaracteristicas daclientela.
A clientela de uma moradia, quer dizer, de uma familia e das pes-
soas que com ela se relacionam nesse local, exercer umelenco de
atividades ai, das quais poder-se-o identificar inumeras funes, tas
como: '.
1-: As de ~star em recnto prprio para permanecer emato con-
te,!,platlvo, Imovel, sentado, conversando, vendo televiso, ouvindo
muslca, lendo e recebendo visitas;
2- As de fazer refeies, emlocal adequado, prprio eequipado
para o ato de comer;
3 - As de preparo e cozimento dos alimentos que vo servir s
refeies;
. 4-As de lavagem elimpeza dos utenslios utilizados nas refeies
e de roupas;
5-As de repouso'e dormida;
6- As de lazer ede recreao;
7- A de guarda dos veculos edos materiais de uso na casa e de
objetos pessoais;
8- As dos servios domsticos.
E assim por diante, tantas funes quantas forem as atividades ou
grupos de atividades afins, convenientes ao ate'ndimento do objetivo
planelado para oedificio. Tudo isso deriva comcerteza do conceito do
tema. Agora, 'cada funo dessa tanto pode ser representada no pro-
gram~ por apenas um ambiente arquitetnico como serem conjuga-
das varias dessas funes no mesmo ambiente. Para cada ambiente
arquitetni~o relacionado no programa deve haver, pelo menos, uma
'r'!terpretaao de funo. A moradia citada deve ter, por isso, umam-
biente deestar ou um"Iiving" que expresse afuno estar identificada.
~s_atividades de refei.o podem ser exercidas numambiente arquite-
tonlCO que pode ser uma sala para refeio ou sala dejantar ou saia de
banquetes ou serem exercidas na prpria copa ou na cozinha, desde
ql!e. esses ambientes sejam adequadamente preparados para isso. As
atividades de preparo e cozimento dos alimentos para as refeies na
casa podem ser exercidas noambiente dacozinhaou dacopa-cozinha.
quando esses dOISseconjugam. As atividades derepouso ededormida
da casa podem ser exerCidas nos ambientes dos quartos ou das "suites"
(quarto conjugado com sanitrio). A atividade de guarda de veiculas
pode ser exerCida na garagem ou navaga para carro ou no estaciona-
mento. Eassim pordiante. Cada funo dacasatem umambientearqui-
29
tetnico correspondente, como, asala de estar, asala de refeies, a
cozinha, os quartos, agaragem, area de servio etc., que constituem
os elementos componentes do programa arquitetnico. Noedificio da
igreja catlica, para citar outro exemplo, soexercidas vrias funes,
dentre elas, as da prtica de atos religiosos, como, a missa, o casa-
mento, o batizado, onde serenem os fiis eopadree, s vezes, outros
sacerdotes no mesmo local. a ambiente arquitetnico prprio para
essa atividade um salo denominado de nave da igreja, ou comu-
mente igreja, onde ficam os fiis; e o presbitrio, onde ficam o sacer-
dote e seus acompanhantes. Na nave esto colocados os bancos para
os fiis sesentarem eajoelharem emmeditao e, no presbitrio, esto
oaltar, deonde opadre celebra oato rei igioso, ocoro, oambo, local de
leitura e sermo e, finalmente, um local para o sacerdote e seus
acompanhantes se sentarem emalgumas ocasies durante o ato reli-
gioso. A igreja tem outras funes, como, de preparao para o ato
religioso pelo padre e de guarda dos objetos e paramentos utilizados
durante oato. Essas funes so realizadas noambiente arquitetnico
denominado sacristia. A igreja tem funes administrativas quando
ela desenvolve as atividades de atendimento aos fiis, atividades de
catequese, de reunies, de cursoS para pessoas da comunidade aque
serve, as quais podem ser exercidas na sacristia, emsalas para ati~i-
dades diversas esala para reunies. Nas atividades de uma escola sao
identificadas diversas funes, entre asquais, asdeadministrao que
cuidam de todos os aspectos administrativos davida escolar eservem
como meio para propiciar O bom funcionamento da escola. Na admi-
nistrao escolar deve haver atividades dedireo, exercidas por uma
ou mais pessoas que comandam avida da instituio. Essas atividades
de direo podem ser traduzidas no programa arquitetnico pelo
ambiente ou ambientes denominados de diretoria. A administrao
escolar pode ser exercida pela dir~toria epor uma equipe administra-
tiva que exera funes de secretariar a diretoria, que se traduz no
programa como secretaria; de manipular com recursos, contas da
receita e despesas, de fazer pagamentos e cobrar, traduzida no pro-
grama como contabilidade etesouraria; ade controle da vida escolar
dos alunos e da vida funcional de professores e funcionrios, dita no
programa como setor de pessoal; a de guardar documentos, deno-
minada de arquivo; ade guarda do material escolar edo material para
uso dos servios da escola. denominada almoxarifado.
Essas funes integram-se ao programa com as denominaes
correspondentes: diretoria, secretaria, contabilidade, tesouraria,
arquivo, almoxarifado etc. A parte educacional da escola exercida
atravs das aulas, ministradas por professores aos alunos. As aulas
tanto podem ser tericas quanto prticas, de leitura, por meio de pro-
jeo defilmes, desi ides ou defitas devideo eassistidas por grupos ou
individualmente. Essas funes podem ser traduzidas no programa
por ambientes arquitetnicos denominados desalas deaula, laborat-
rios, oficinas, biblioteca, auditrio etc. Hatividades deesporte elazer
erecreao naescola, deplanejamentoescolare orientao educacio-
30
na1, de servios de manuteno e limpeza que podem ser exercidas
_ respec.tivamente, no recreio coberto, no parque infantil, da quadr~
esp0r:tlva, n:>campo d~futebol, nasala de reunies, no S.a.E. (Servio
de <;>nentaao EducaCional), na carpintaria e no depsito de materiais
de limpeza. Tudo conforme o caso.
_ No projeto dacasa para veraneio, analisado no itemda caracteriza-
ao ~a clientela, ~J )rograma arCluitetnico, ou seja; a listagem dos
a!J 1blentes necessanos ao atendimento das atividades a serem exer-
clda~'pela t;:llentela previst!l"p,?de ser expresso do modo seguinte,
admitido seja esse o que atende as funes eatividades identificadas:
Programa arquitetnico
Tema: casa de veraneio
1-Varanaa;
2- Sala de estar;
3-Bar;
4- Su[te do casal (quarto mais sanitrio);
5- SUlte dos filhos (quarto mais sanitrio);
6- Quarto de visitas; -
7-Sanitrio social;.
8- opa-cozinha;
g- Area de servio;
10- Quarto de empregada;
11- Sanitrio de empregada;
12-Garagem.
. A listagem :10programa arqulleTOnlco-desta casa consta de doze
Itens, com os comodos que devem integrar o projeto .
.. No projeto da igreja, analisada acaracterizao daclientela eiden-
tificadas todas as atividades e funes necessrias ao atendimento
proposto no conceito do tema, o programa arquitetnico pode ser
expresso da maneira seguinte:
Programa arquitetnico
Tema: igreja catlica
1- Ptio de entrada;
2- Nave da igreja;
3- Presbitrio (altar, coro, ambo etc.);
4- Batistrio;
5- Sacristia;
6- Sala de administrao;
7- Sala de atividades;
8- Salo paroquial;
9- Hall de entrada;
10- Depsito;
11- Sanitrio de pblico;
12- Sanitrio do sacerdote;
13- Estacionamento.
. Percebe-se pelo programa elaborado que essa uma igreja de um
numero pequeno defunes. Provavelmente no uma iqreja matriz da
parquia, mas, de umdos grupos da comunidade dos fiis.
No projeto da escola do primeiro grau, analisando-se a caracteri-
zao da clientela, a adequao s funes e atividades previstas, o
31
I
I
,
programa arquitetnico pode ser expresso da maneira seguinte: ;
Programa arquitetnico
Tema: escola de 1 grau
1- Vestbulo de entrada;
2 - Sala de espera;
3 - Secretaria;
4-Diretoria
5- Sala de administrao, tesouraria e contabilidade;
6- Sala de mecanografia;
7-Arquivo;
8- Sala de professores;
9 - Sala de reunies;
10- S.O.E. (Servio de Orientao Educacional);
11 - Coordenao pedaggica;
12- Recreio coberto;
13-Cantina;
14 - Depsito;
15-Sanitrio de alunos;
16- Sanitrio dos professores;
17 - Salas de aula;
18- Hall de entrada dos funcionrios;
19 - Vestirio de alunos;
20- Sanitrio e vestirio de funcionrios;
21-Auditrio;
22 - Biblioteca;
23 - Quadra poliesportiva, para esporte e ginstica;
24 - Campo de futebol;
25 - Parque de recreao.
A listagem do programa da escola consta de vinte e cinco .itens
representativos dos cmodos necessrios ao atendimento das ativida-
des previstas.
O programa arquitetnico pode ser elaborado, tanto pelo racioc-
nio intuitivo que capta com clareza as funes do tema, quanto pode
resultar da elaborao cuidadosa do estudo das atividades de uma
determinada organizao de funes. Na prtica profissional do arqui-
teto, ocorrem as situaes, como: primeira, ado cliente que sabe exata-
mente o que quer do projeto e j realizou a programao, tendo o pro-
grama elaborado. A segunda, a do cliente que discute exaustivamente
com o arquiteto os diversos aspectos envolventes do programa para a
sua elaborao; e aterceira, o caso em que o arquiteto incumbe-se da
32
i
I
I
i
il
1
tarefa de elabor-lo. Em qualquer caso, o trabalho requer a anlise de
cada atividade ou funo aserexercida no edifcio eo estabelecimento .-
de como e onde sero exercidas, para a definio dos cmodos ou
ambientes arquitetnicos a constarem no programa. .
. Para tornar o programa mais compreensivo e orden-lo de modo a
aludar o.trabalho a ser realizado adiante, na etapa de partido arquite-
tonlco, e conveniente, na sua elaborao, dispor o programa por seto-
res d~funes afins. Todo programa pode ser ordenado por grupo de
funoes que tm ligaes ntimas entresi. No primeiro exemplo citado
antenor~ente, o da casa para veraneio, podem-se identificar no pro-
grama tres setores de funes afins. Um primeiro, que denominamos
de setor social, onde se exercero basicamente as atividades de maior
significado social da habitao, isto , os ambientes da casa onde se
desenrolaro os contatos com outras pessoas, que no as da familia e
servi ro vida social familiar. Elas so: avaranda, asala de estar asala
de jantar, o sanitrio social e o bar. Um segundo, que denomina'remos
de setor ntimo, assim caracterizado porque congrega as atividades de
maior significado de intimidade da casa. So eles os ambientes dasuite
do casal, da sute dos filhos e do quarto de visitas. E finalmente, o ter-
ceiro, o denominado setor servio, assim batizado, porque representa
no programa o conjunto de maior significao das atividades consi-
d,:radas de servios da casa. Este setor envolve, no caso, a copa-cozinha,
a area de servios, a garagem, o quarto de empregada e o sanitrio de
empregada. .
. A ordenao feita desse modo ajuda a visualizar o programa seto-
nalmente e, ao mesmo tempo, servir para a elaborao dos racioci-
nios de pr-dimensionamento e das idias arquitetnicas do partido.
No exemplo citado primeiro, o da casa de veraneio, o programa
ordenado setonalmente fica constitudo assim:
Programa arquitetnico
Tema: Casa de veraneio
Setor Social
Varanda;
Sala de estar;
Bar;
Sala oe jantar;
Sanitrio social.
Setor ntimo
Sute do casal (quarto mais sanitrio);
Sute dos filhos (quarto mais sanitrio);
Quarto de hspedes,
33
j
j
Setor Servio
Copa-cozinha;
rea de servio;
Garagem;
Quarto de empregada;
Sanitrio de empregada.
Tomemos o segundo exemplo citado. o da igreja catlica. Feito o
mesmo procedimento anterior. deordenar oprograma por setores, ele
estaria agrupado. de acordo com as funes mais afins, emtrs seta-
res. denominados aqui de setor culto onde estaro incluidos os ele-
mentos do programa que atendem s diversas atividades do culto reli-
gioso; um outro setor denominado de administrativo no qual esto
agrupadas as atividades de administrao e comunitrias (reunies,
catequeses, cursos, associaes, etc.) eumterceiro setor denominado
de servio. reunindo as atividades e funes de servio e meio dos
outros setores. Arrumado o programa segundo esses setores, ele fica
assim:
Programa arquitetnico:
Tema: Igreja catlica
Setor Culto
Ptio de entrada;
Nave;
Presbitrio;
Sacristia;
Batistrio.
Setor Administrativo
Hall de entrada;
Sala de administrao;
Sala de atividades;
Salo paroquial;
Depsito.
Setor Servio
Sanitrio pblico;
Sanitrio do sacerdote;
Depsito;
Estacionamento.
34
I
Tomemos o outro exemplo. o da escola do 1~grau, para fazer o
mesmo raciocnio feito com os programas da casa eda igreja. Podem-
se identificar os grupos de atividades afins eorden-Ias segundo esses
.grupos. Umgrupo de atividades seria integrado no setor administrati-
vo, contendo as funes pertinentes administrao. Nele estariam
includos ovestbulo deentrada, asaladeespera. asecretaria, adireto-
ria. a sala de administrao. a tesouraria. a contabilidade. a mecano-.
grafia eoarquivo. Umoutro setor poderia ser osetor educacional. reu-
nindo as atividades de maior significao do ensino naescola. no qual
. estariam includas assalas de aula. asala deprofessores. asala de reu-
nies. o S.a.E .acoordenao pedaggica. oauditrio e abiblioteca.
Umterceiro setor seria o setor servio. que junta as atividades auxilia-
res da escola, onde estariam o recreio coberto. acantina. odepsito. o
sanitrio de alunos. o sanitrio de professores. o hall de entrada dos
funcionrios. o vestirio e sanitrio de funcionrios. Umquarto setor
poderia ter o programa da escola. o setor'de esporte e recreao. con-
tendo as atividades inerentes a estas funes que so a quadra poli-
esportiva. o campo de futebol eo parque de recreao.
A listagem do programa arquitetnico da escola por setores fica
assim:
Programa arquitetnico
Escola do 1grau
Setor Administrativo
Vestblo de entrada;
Sala de espera;
Secretaria;
Diretoria;
Sala de administrao. tesouraria e contabilidade;
Mecanografia;
Arquivo;
Setor Educacional
Salas de aula;
Sala de professores;
Sala de reunies;
S.a.E.;
Coordenao pedaggica;
Auditrio;
Biblioteca.
Setor Servios
35
Recreio coberto;
Cantina;
Depsito;
Sanitrios de alunos;
Sanitrio de professores;
Sanitrio evestirio de funcionrios:
Vestirio de alunos.
Setor de Esporte e Recreao
Quadra poliesportiva:
Campo de futebol:
Parque de recreao.
H funes que podem estar tanto num como noutro setor. A sala
dos professores da escola, pode estar tanto no setor educacional,
quanto no setor administrativo da escola. Cada elemento do programa
deve ser agrupado no setor adequado ou conveniente, conforme a
interpretao conceitual da funo esua afinidade com as demais.
Exercicios teis sobre programa arquitetnico
1- Elabore programa dos temas seguintes: clube, museu, biblio-
teca, creche, teatro, shopping center, aeroporto, estao rodoviria.
2-Observe alguns dos edifcios de hotel, posto de sade, empre-
sa, escritrio, mercado e prefeitura e tente elaborar seus programas
arquitetnicos, identificando os setores.
3- Analise o programa de alguns projetos arquitetnicos.
36
QUARTO " PASSO.
5.5 - RELAES DOPROGRAMA
Existem relaes de maior ou menor grau de intimidade ou apro-
ximao entre os cmodos ou elementos do prog rama.
Procure compreender as relaes dos elementos do programa,
pois essa compreenso til para a adoo do partido arquitetnico.
Essas inter-relaes caracterizam a funcionalidade existente entre
esses elementos econdicionam as disposies espaciais deles no ter-
reno e no edifcio.
As inter-relaes entre os elementos do programa encontram-se
na interpretao das peculiaridades da clientela e na percepo das
afinidades das funes e das atividades do tema. A setorizao do
programa arquitetnico o exemplo geral da categorizao das fun-
es por atividades afins: setor administrativo, setor servio, etc. No
particular, os setores se ligam entre si atravs de determinados ele-
mentos estratgicos que tm afinidades funcionais de ponte entre
setores. H outros elementos do programa que tm caractersticas
funcionais de centro de distribuio decirculaes ou decircuitos dos
usurios: o grupo de usurios-funcionrios, no edifcio, tem um cir-
cuit:>de ligaes entre elementos do programa que diferente do cir-
cuito do grupo de usurios-pblicos, aclientela do edifcio. Esses cir-
cuitos, embora diferentes, se encontram emdeterminados elementos
do programa eformam os pontos de ligao dos circuitos. Helemen-
tos que so dependentes de outros emtermos funcionais. Eassimpor
diante. So vrias as diferenas de relaes entre eles.
Essas diferentes peculiaridades das inter-relaes entre os ele-
mentos do programa so achave da interpretao funcional do temae
devem ser bem entendidas pelo projetista para express-Ias correta-
mente no partido, quando da disposio espacial desses elementos.
A funcionalidade do projeto depende disso. Nasoluo arquitetnica,
as circulaes detodos os tipos (como uma porta que liga umelemento
do programa a outro numa ligao direta, como umcorredor, ou um
hall, ou as circulaes verticais, como aescada, oelevador, arampa),
so os elementos que exercem esse papel de ligao entre setores e
entre elementos do programa, mantendo as peculiaridades funcionais
prprias a cada elemento.
Essas relaes funcionais de maior ou menor intimidade, ou de
afinidades, podem ser expressas de maneira grfica, num diagrama
com as respectivas ligaes, indicando ograu deintimidade entre elas.
Esse diagrama denominado de funcionograma. Ofuncionograma ,
37
SALA
QUARTO
O ,
00 SANITARIO
ESTAR
CASAL
QUARTO
SANITRIO
00
CASAL
pois, o diagrama das relaes funcionais dos elementos do programa.
H elementos do programa que, pelas afinidades funcionais que
possuem, se ligam diretamente a outros. Um exemplo desse tipo de
ligao o existente entre o sanitrio da suite do casal, na casa devera-
neio citada anteriormente, e o quarto do casal. Essa ligao direta
decorre da intimidade, da relao intima de funcionamento, entre o
sanitrio e o quarto. Outros elementos do programa, pelas relaes
distanciadas existentes entre eles, se ligam em grau menor de intimi-
dade. No se ligam to diretamente, como o caso do quarto e do sanit-
rio da sute. O sanitrio da sute do casal no tem afinidade funcional
maior com outros elementos do programa. Conseqentemente, o seu
grau de intimidade com os demais elementos menor, quer dizer que
ele no se liga diretamente a qualquer outro cmodo da casa, mas,
atravs do quarto. Essa uma ligao indireta, de funes no afins. H
elementos do programa que tm ligao de intimidade direta com
vrios outros. Umexemplo desse caso o do sanitro social da mesma
casa, por ser conceitualmente definido como um cmodo destinado a
atender funo sanitria, tanto para os usurios do setor ntimo que
no os das sutes, quanto aos usurios do setor social. Esses elementos
devem, portanto, estar dispostos no projeto de modo aquede qualquer
cmodo de um desses setores se possa alcan-lo. No deve haver,
conseqentemente, nenhum outro elemento intermedirio, a no ser
um, de ligao ao sanitrio social. Isso significa dizer, tambm, que ele
no deve ser dependente de outro cmodo. H elementos de setores
diferentes do programa que mantm afinidades de funes entre si.
Esses elementos so os que ligam umsetor aoutro. Acopa-cozinha, por
exemplo, elemento do setor servio da casa de veraneio, liga-se intima-
mente por afinidade de funo com a sala de jantar que elemento do
setor social e este se liga por a ao setor servio. J a rea de servio e o
quarto de empregada, por outro lado, Queso do setor servio, no tm
ali nidades emgraudireto com os elementos do setor social. Deumpara outro
deve, portanto, haver um ou mais ambientes intermedirios de ligao.
Compreender esses graus de maiore menor intimidade dos elementos
do programa entender a funcionalidade do projeto, a qual deve estar
clara na mente do projetista e servir para o raciocinio da disposio
dos elementos do programa no partido.
H vrias maneiras grficas de representar o funcionograma.
Mostraremos aqui, com exemplos, a maneira que adotamos para con-
vencionarmos o funcionograma. Representamos os elementos do
programa com desenhos de retngulos e o nome do cmodo inserido
neles. E as ligaes, com linhas. A linha que ligar dois ou mais elemen-
tos do programa significa admitir a existncia de ligao direta entre
esses cmodos na soluo arquitetnica, sem algum outro como inter-
medirio para se ter acesso entre eles. Sendo assim, a representao
38
DIAGRAMA
DIAGRAMA 2
DIAGRAMA 3
L'QO co"' 0-7
.elO' lO <,OI
OUARTO
SANITRIO
qUARTO
SANITRIO
UNITRIO
OUARTO QUARTO
1
no.
diagramtica da sute do casal. da casa deveraneio, pode ser expressa
no modo como est no diagrama 1, pgina39. Os dois quadros repre-
sentam os cmodos da suite com seus respectivos nomes e uma linha
ligando-os. A interpretao do diagrama ade que existe uma ligao
direta entre esses cmodos, isto ,. pode-se passar de um para outro
diretamente. Esta a ligao de maior intimidade ou afinidade das
funes: quarto/sanitrio.
A ligao indireta aque no expressa relao funcional intima de
dois cmodos, como, entre osanitrio dasute easala deestarda casa.
Existe oquarto do casal como elemento intermedirio, visto que osani-
trio da suite visa atender funcionalmente ao usurio do quarto. Ofun-
eionograma representativo dessa ligao indireta est expresso no
diagrama 2, pgina 39.
Neste diagrama. os trs quadros representam os trs cmodos
com os respectivos nomes, - sala de estar, quarto de casal esanitrio
-, e as lint~:ls representam as ligaes entre eles. A interpretao do
diagrama e de que para sepassar da sala ao sanitrio dasute tem-se,
necessariamente. que passar pelo quarto de casal. E vice-versa. Essa
ligao que passa por umou mais cmodos intermedirios secaracte-
riza como indireta. Observe tambm que, neste diagrama 2, h duas
ligaes diretas. A da sala para o quarto e do quarto para o sanitrio.
A ligao direta pode ser comum a vrios cmodos, quando se
pode de um ter acesso a vrios sem passar por nenhum outro. Numa
edificao de quatro quartos, pode-se de umdeles ir aqualquer outro
diretamente. sem passar Dor'nen.hum intermedirio. O diagrama 3,
pgina 3S, rllostra essa relao. E o funcionograma de duas sutes e
mais dois quartos. H um sanitrio ligado circulao comum e dois
sanitrios dependentes dos quartos, os das suites.
importante salientar que o funcionograma diz apenas o grau de
afinidade das ligaes existentes entre os elementos do programa.
Logo, odiagrama no expressa nada relacionado comotipo deligao
que ser adotado nasoluo arquitetnica, nemdaposio do elemen-
to no terreno, nem a distncia entre os cmodos. Diz apenas se esto
ligados ou no. Isso significa dizer que ofuncionograma no expressa
nenhuma idia de soluo arquitetnica, nada da disposio espacial.
As ligaes entre os elementos do programa postas nofuncionograma
podem s~., interpretadas na soluo arquitetnica tanto como uma
.porta qu," :'da dois ambientes diretamente, como pode ser umhall, um
corredor, Uffld escada, umelevador, uma rampa etc. Qualquer tipo de
ligao ou circulao. As idias arquitetnicas das ligaes do fun-
cionograrna s sero definidas quando se desenvolver a idia do par-
tido arquitetnico, assunto esse tratado nasegunda etapa deste livro.
Quando feito osetoramento do prog rama, evidente que seagru-
pam os elementos por certas afir.idades de funes. Portanto, h liga-
40
es por afinidades dos elementos do setor entre si ede umsetor com
outro. Podem ser elaborados, pois, funcionogramas setoriais, comos
elementos de cada setor e o funcionograma geral, com todos os ele-
mentos do programa includos. No exemplo da casa para veraneio, o
funcionograma do setor social do qual constam a~aranda, a sala de
estar, asala de jantar, osanitrio social eobar, pode ser representado
graficamente assim como est no diagrama4, pgina42. Ainterpret-
o desse funconograma a de que se tem acesso pela varanda - a
seta indica isso-e da saladeestarede jantar.lssoquerdizerque h
uma dependncia da sala de jantar pela sala de estar, quando se usa o
acesso pela varanda. Outra interpretao desse funcionograma ade
que de qualquer uma das salas Dode-se chegar aosanitrio social, sem
passar pela outra. Visto que aligao comum. Nesse funcionograma
tambm est indicado que as salas seligam aosetor mtimo pela ligao
comum, direta. Mas a ligao desse setor social como setor servio
feita pela sala dejantar, que atorna indireta para os demais cmodos de
servio.
Suponhamos agora uma outra concepo funcional do setor so-
eial. A de fazer comque davaranda sepossa ter acesso aqualquer uma
das salas.. tanto ade estar quanto adejantar. mantendo as outras Iiga-
esexatamente como esto explicitadas no diagrama 4. pgina 42.
Neste caso, ofuneionograma passa aser representado deoutro modo,
como no diagrama 5, pgina 42.
Observe que alinha que liga asala deestar no diagrama bifurca-
se para ligar as duas salas, numa ligao comum. Essediagrama mdica
que assalas tmacesso entresi ecomavaranda. Veja que emambos os
casos aposio do sanitrio ade ligar-se. tanto aosetor social, pelas
salas, quantoao setor ntimo, pela linha que liga os dois setores. Nestes
dois funcionogramas mantm-se a ligao do setor social comosetor
servio pela sala de jantar.
Vejamos agora outro exemplo: ofuncionograma dosetor ntimo da
casa. So trs quartos, sendo duas sutes, a do casal e dos filhos e o
quarto de hspedes. Segundo os mesmos raciocinios adotados at
agora para aelaborao do funcionograma dosetor social easmesmas
convenes para a elaboraco dos diaqramas, podemos desenhar o
funcion?grama do s~tor intimo da casa..Ver odiagrama 6, pgina 44.
Nele esto 'iSduas surtes eoquarto de hspedes. Eles tmuma ligao
comum, embora funcionalmente eles devam estar ligados uns aos
outros sem nenhum cmodo intermedirio. Eles exercem as mesmas
funes dentro do setor. Osan.itrio da suite que depende do quarto.
Ele,pois, umcmodo que possui ligao direta comrelao aoquarto
e Indireta com relao aos demais cmodos. Neste diagrama. que
expressa a funcionalidade inerente ao setor, fica clara a ligao do
setor ntimo apenas aosetor social diretamente. Issosignifica dizerque
41
l,qut,;O ~o'o o to' ,"l,mo
, .
,
a ligao setor ntimo-setor servio indireta atravs do setor social.
Igualmente ao procedimento adotado com relao aos funciono-
gramas anteriores, o funcionograma do setor servico pode ser reore-
sentado do modo como est no diagrama 7, pgina44, Neste diagra-
ma, esto os elementos integrantes deste setor, acopa-cozinha, area
de servio, o quarto de empregada, osanitrio de empregada eagara-
. gemoCada umtemaligao decorrente das funes prprias. Areade
servio o cmodo que serve de acesso de servio da casa eambiente
de distribuio de circulao para os demais cmodos do setor. Elese
liga, portanto, atodos os outros. Eletemligao direta comos demais,
e exerce umpapel intermedirio de ligao entre cozinha e garagem,
cozinha e quarto de empregada, garagem e quarto de empregada e
garagem e sanitrio de empregada. O sanitrio de empregada tanto
pode ser diretamente ligado ao quarto de empregada, constituindo-se
numa sute, quanto pode estar conectado na ligao comum quarto de
empregada -rea de servio, ou na prpria rea de servio. Essa lti-
ma forma de ligao muito usual quando s existe umsanitrio no
setor servio para atender a toda a clientela deste setor. Essa forma
evita a deoendncia do sanitrio ao quarto de empregada. Neste fun-
cionograma observam-se tambm as ligaes do setor servio com o
setor social, pela copa-cozinha com a sala de jantar e pela garagem
com avaranda ou asala de estar.
Ofuncionograma geral aunio dos funcionogramas dos setores
unidos pelas ligaes intersetoriais. Odiagrama 8, pgina45, mostra
esse funcionograma da casa de veraneio. Nele esto expressas todas
as ligaes existentes entre os elementos do programa, revelando o
grau de intimidade ou afinidades de funes dos elementos.
Idntico modo aodo usado para elaboraro funcionograma dacasa
de veraneio pode ser usado para seelaborarem os funcionogramas da
igreja e da escola do 1~grau, cujos programas foram feitos anterior-
mente. Osdiagramas nmerosge lO, s pginas46e47, mostram esses
funcionogramas.
Do modo como foi conceituado aqui ofuncionograma, necess-
rio fazer adistino entre este diagrama, o organograma eo fluxogra-
ma, para maior clareza e compreenso do assunto. Enquanto o fun-
cionograma entendido conceitualmente "omo o diagrama que ex-
pressa as inter-relaes dos elementos do programa arquitetnico, o
organograma entendido como odiagrama que expressa asfunes e
as relaes de hierarquia dos elementos de uma dada organizao; o
fluxograma o diagrama que expressa a noo de grandeza de fluxo
dos elementos considerados.
Numa dada organizao, existe uma diretoria, uma gerncia de
operaes e outra gerncia tcnica. gerncia de operaes esto
subordinados o setor de manuteno eosetor de operaes. gern-
SANITARIO
SOCIAL
BAR
SANlfAfUO
SOCIAL
SALA
Df
J A"l TA 1l
SALA OE
ESTAR
BAR
S A L A
DE
ES TA R
ACES~ <' ~ i VARA"lDA
I
ACESSO----j VARANOA
OIAGRAMA 5
FtlNCIONOGRAMA DO SETOR SOCIAL DA CASA
DIAGRAMA 4
FUNCIONOGRAMA 00 SETOR SOCIAL DA CASA
43
OIAGR ..M A 8
Q.1AGRAM A 6 FUNCIONOGRAMA DA CASA PARA VERANElO
FUNCIONOGRAMA DO SETOR INTIMO DA CASA
FUNCIONOGRAMA DO SETOR SERVICO DA CASA
DIAGRAM A 7
I
I
I'
I
I
'l
I
[
I
I
I
I
!
I
CIAL
I
I
I
,
VARANDA
I
I
I
I
I
I
I
I
,
I S A LA
I
I DE
SALA SANITARIO I
I
DE
I
I
JANTAR ESTAR SOCIAL
,
I
,
1... _ _ _ _
~- - - - - - - - - - - - - - - - -
,
,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -l
._._._._._._.-
---,
GARAGEM
COPA
I
,
COZINHA
I
1"-
._ .. _ .. -\- .._ .._..-.
-"-"_ ..
I
I
I QUARTO
! I
l-- 00 I-
SANITARIO
I
CASAL
>
AREA
I
I QUARTO
o
DE
I
, DE f-
SERVi O
!
HOSPEDES
I
QUARTO
SANITRIO I
I
I-- oos
-
SANITRIO
DE
I
FILHOS
EM PREGADA
I
I
QUARTO
i
1.._ .._ . .-_ .. SETOR i NTIM O
DE I
_ .. -.. _ .._ -.-.. -
' -' -
EM PREGADA
I
ACESSO soeI AL
: .L -,
I ~ SEM RSO '
r
I
ACESSO
PI AUTO!
i
i
i
I
ACESSO i
DE SER~fC
I
I
i
I
i
i
i
LSETOR SERVIO !
._._._._._._.-._._._.1
LIGA COM O
SETOR soe IA L
QUARTO
DE
EM PREGADA
SANlTARIO
DE
EM PREGADA
AREA
DE
SERVIo
ACESSO DE SERVIO
COPA
COZINHA
ACESSO DE AUTO- 1 GARAGEM
LIGA COM o
SETOR SOCIAL:
LIGA COM
SETOR SOCIAL
OBSERVAA" O: NESTE ~UNCIONOGRAMA ESTO REPRESENTADAS
AS L1GAOES DOS ELEM ENTOS INTEGRANTES .00
PROGRAM A POR SETOR E INTERSETORIAL.
/
DIAGRAMA 9
FUNCIONOGRAMA DA IGREJ A CATOllCA
DIAGRAMA .10
FUNCIONOGRAMA DA ESCOLA DO I. GRAU.
SA NlTA RI O
V ESnA RJ O
OE .
FUNCI ONA RI A S
SA NI T RI O
V ESTI RI O
OE ,
FVNCIONARIOS
t~--;I~O
~~,_..
HAl L
OE
FUNCIONARIOS
I CA NTI NA
1_-.
SANITARIO
OE
A LUNA S
--" " ,-
, !
'S'frR SfRVo' -A C~SSOE:"
SERViO
ACESSO PRINCIPAL
'.~ ] ESTA CI ONA MENTO [
+------------------, r- ~ _.- -'- _.- _.- - - _._.-."
~ I SETOR ADMWISTRATlVO l
I i . i
: L._. , SALA i
.... ----1 DE j
SAO~AS C1:l ESPERA "
LA UlA S l~-J
.'UTECA ~+i :
r : : ~ C ~]1: !
ot--SETR-ClTRA l-----------.1 l_._._. _._._._. _._._._. !
1'-'" -.... _... _... - " -" '-,
SERViO SETOR
..- ... _.,,_0" _'
DEPOSITO
ACESSO PI AUTO
~
STACIONAMENTO
.---------------.,
, ,
lflCESSO 00 FIEL f
\ I :
r '-V ,
I PA TEO" :
I DE :
ENTRADA 1
r
i
I
r
r
I NAVE I
I r
r'- _._.---'-', I I
i ! : :STOI t
I HA LL I: :CUlTO
I DE~' I 1
. A CESSO ., I I I
I ADM1N1ST. / ENTRADA I I
I I: :
. r-_.- _.1 I I
I i r" -2':'-'!1 1
: G~EL A I ~0;':~c~Oi.~-=~~" '::'~~ =.:.::~~
I
, ADMINIST.! I
SANITRIO .
I I D O
i 1 PADRE !
I S A L A !
i OE 1
i A TI V I D A D ES!
I I
I
I . I'.
SALO
i . I
. PAROQUI AL
I I
I I
1--_._. __ .__ .-'
SETOR ADMINISTRATIVO
OBSERVACO: NESTE FUNCIONOGRAMA ESTO REPRESENTADAS AS
lIGACES DOS ELEMENTOS INTEGRANTES DO PRO-
GRAMA. POR SETOR E INTER. SETORIALMENTE
--- ...
I
,
I
I
,
i
~
SETOR
O
DESENHO
FLUXOS DE
FUNCIONARIOS
PARA SEUS
SETORES
APS A
ENTRADA
SETOR
DE
ARQUITETURA
OERtNC1A
TECNICA
SETOR
DE
ENGENHARIA
-r---"-"'--=
VESTieULO I =. -==_ -==_ -: , >
DE I :>
ENTRADA \ ~====2
~ l-=--. . ) :
SETOR
O
MANUTENO
GEftfNCIA
O
OPERAcriEs
FLUXO DE
CHEGADA DE
FUNCIONRIOS
(10.000 FUNe.)
----: >
CORRESPONDE A 1.000 FUNCIONRIOS
SETOR
DE
OPERAES
FLUXOGRAMA DE ENTRADA DE FUNCI ONARI OS NA EMPRESA
AS 6: 00 HORAS DA MANH
DIAGRAMA 12
DIAGRAMA II
FLUXONOGRAMA DE EMPRESA
46
cia tcnica esto subordinados osetorde engenharia, osetor de arqui-
tetura e o setor de desenho. No exemplo acima citado o que expressa
essa hierarquia administrativa e sua subordinao o diagrama 11,
pgina 49, o organograma da empresa. Nele se percebe que as gern-
cias so subordinadas hierarquicamente diretoria e com ela se rela-
cionam e as atividades da empresa se desenvolvem seguindo esses
sentidos, de cima para baixo e de baixo para cima.
Numa dada organizao de dez mil funcionrios que tmde iniciar
o trabalho s oito horas da manh registrando o ponto no vestibulo de
entrada, num espao curto de tempo, e dai cada umdeve diri9ir-se ao
seu setor de servio, dez setores, commil funcionrios emcada setor,
formam-se dois fluxos de funcionrios com dois diferentes graus de
intensidade. O grande fluxo, de dez miI pessoas aovestibulo deentrada
e os outros, menores, de mil funcionrios cada um, dos que saemdo
vestibulo edirigem-se para os seus setores detrabalho. Essefenmeno
pode ser representado num diagrama que expresse de forma grfica
estes diferentes fluxos. A intensidade do primeiro dez vezes maior do
que as dos outros fluxos. No exemplo acima citado o que expressa a
noo dos fluxos eos graus de intensidade de cada umofluxograma,
onde se desenham, com dimenses proporcionais aos seus graus de
intensidade, os fluxos corresDondentes. O desenho do diagrama 12 ,
pgina 49, configura esse fluxograma.
A noo de fluxo de pessoas, objetos e veiculos no edificio a ser
projetado pode ser umdado importante para o planejamento arquite-
tnico. Num edifcio onde est previsto umfluxo significativo de pes-
soas que vo entrar e sair dele com freqncia, a anlise do fluxo
dessas pessoas relacionado ao edificio e aos elementos do seu pro-
grama necessria e o fluxo exercer o papel de uma varivel impor-
tante nas decises de projeto, tanto nas decises relativas disposio
desses e'lementos do programa no terreno e no edificio, quanto nas
relativas aos acessos ecirculao. Noplanejamento de umestdio de
futebol, ou outro edificio semelhante, que concentra populao" para
assistir a um espetculo esportivo, os problemas de fluxo devem ser
analisados, porque os espectadores do jogo chegam ao estdio em
grande quantidade, intensificada proporo emque se aproxima a
hora do jogo e, noutra ocasio, quando o jogo acaba e o espectador
quer sair do estdio, criando fluxos intensos' e em sentido inverso
ao da chegada. Os espaos arquitetnicos de entrada e saida a se-
rem feitos para atender aos fluxos dessas pessoas devem ser dimen-
sionados em funo dos graus de intensidade desses fluxos. Assim
como ofluxo das pessoas, ofluxo de veiculos, nesse caso do estdio de
futebol, deve ser considerado. Outros edifcios h, que pelas suas
pecul iaridades de ordem funcional, exigem consideraes de natureza
de fluxo, tanto de pessoas, como de objetos eveiculos: estao rodo-
viria, aeroporto. teatro, shopping center etc.
Mesmo que os problemas de fluxo no sejamto intensos quanto
os referidos acima, emtodo edifcio helementos doprograma que so
funcionalmente de maior ou menor atendimento de pblico, gerando
diferentes fluxos. Avaranda easala deestar dacasadeveraneio so os
ambientes de maior fluxo de pessoas. Anave, assalas de atividades eo
salo comunitrio da igreja tmessa mesma caracterstica. O recreio
coberto, ovestbulo deentrada easecretaria so ambientes arquitet-
nicos daescola que tmmuito fluxo depessoas. Aoprojetaressesedif-
cios, hque selevarem considerao ascaractersticas defluxodelese
aloc-los no terreno e no edifcio de modo que se situem emlocal de
onde o fluxo intenso sed de modo fluente, fcil, semmaiores dificul-
dades, semcongestionamento, semtumulto.
Os edificios destinados afunes pblicas, emgeral, tmsetores
de grande atendimento ao pblico que, normalmente, nas considera-
es do partido do edifcio, devero ser distribudos prioritariamente
nos pavimentos onde o acesso das pessoas, que constituem o maior
fluxo no edifcio, sed comfacilidade e rapidez afimde distribuir me-
lhor Ofluxo dos que se utilizam do atendimento desses setores. Por
outro lado, htambm, nesses edifcios, setores de pouco ou nenhum
atendimento ao pblico, caractersticas essas que tambm devem ser
levadas em considerao nas decises de projeto referentes ao seto-
ramento dos elementos do programa, tanto ao nvel planimtrico da
ocupao no terreno, quanto ao nivel altimtrico da ocupao nos
outros pavimentos, demodo que esses setores, alternativamente, pos-
sam e devam ser dispostos no edifcio empavimentos onde no' haja
muita facilidade de acesso para o grande pblico, naqueles pavimen-
tos distantes dos acessos ecirculaes de maior fluxo.
Qualquer umdesses diagramas-o fluxograma, oorganograma e
o funcionograma - podem ser elementos de informaes teis para o
planejamento arquitetnico, conforme o caso requeira. Entretanto, o
funcionograma omais freqentemente utilizado no processo de pla-
nejamento do edifcio pelas exigncias indispensveis de interpreta-
o funcional dos elementos do programa. Noplanejamento arquitet-
nico de umestdio defutebol, oestudo dos fluxos de pessoas neces-
srio e os fluxogr2mas devem ser feitos para orientar o dimensiona-
mento das circulaes eacessos, bilheterias etc.
Na elaborao do func;onograma, do modo como est explicado
nas pginas 2"teriores, o diagrama de quadros. muito freqente
r2ciocinarem-se 21gumas idias de soluo arquitetnica e faz-lo
como sejestivesse elaborando partido, definindo otipo decirculao
a ser usada, o modo de distribuio espacial dos elementos do pro-
grama no terreno ou quais elementos se localizam emtal ou qual.pavi-
mento, como seofuncionograma tambm expressasse isso ou nele se
tivesse que assumir algum compromisso com as idias da soluo
arquitetnica. Voltamos aressaltar que ofuncionograma stemcom-
50
.promisso com as inter-relaes de funes. Sendo assim, apresenta-
,remos ase~U1rumoutro modo defazer funcionog rama, odo diagrama
de IOterseo:s que, pelas suas caractersticas grficas, no d margem
aespeculaao de natureza arquitetnica como o outro d.
Tomemos quatro elementos do programa da casa de veraneio
(a varanda, a sala de estar, a copa-cozinha e o quarto d empregada)
para exemplificao. Por princpio, avarandaeasaladeestarpossuem
elos afins, decorrentes das afinidades entre suas funes, demodo que
ndispensvel a ligao direta entre eles. para o bomfuncionamento
da casa. Esse o tipo de relacionamento intimo entre elementos do
programa, um relacionamento que poderamos qualificar de primeiro
grau. Esse relacionamento funcional no existe entre a varanda, a
copa-cozinha eoquarto deempregada. Como tambm noexisteentre
asala deestar, acopa-cozinha eoquarto deempregada. Por outro lado,
h atividades que so desenvolvidas navaranda e na sala de estar que
podem precisar dos servios desenvolvidos na copa-cozinha. Mas,
necessariamente esses elementos - varanda e sala de estar -, no
precisam estar ligados diretamente com a copa-cozinha. Pode haver
uma ligao atravs de outro elemento intermedirio, asala de jantar,
por exemplo. Aligao dacopa-cozinha comavaranda oucomasala de
estar , pois, uma ligao indireta, desegundo grau. Aligao dacopa-
cozinha com o quarto de empregada tambm indireta, de segundo
grau. A ligao entre varanda ou sala de estar equarto de empregada
no deve ser nem de primeiro nem de segundo grau porque no tem
afinidades de funes. Ser uma ligao remota, atravs de dois ou
mais elementos do programa. Esses raciocnios feitos com relao a
esses quatro elementos podem ser feitos com todos os elementos
constantes no programa erepresentados no diagrama de intersees.
Odiagrama consta dos elementos do programa, de umlado, dispostos
numa listagem vertical, pautada e, do outro, as linhas de interseo
feitas a partir da pauta, emdirees diagonais nos dois sentidos, de
baixo para cimae de cima para baixo, atseencontrarem formando um
tringulo comfiguras de losangos nas intersees. Verodiagrama 13,
pg ina 52. Representemos as relaes entre oselementos doprograma
com convenes diferentes para cada tipo de relao e obteremos o
funcionograma. Esse funcionograma expressa de maneira grfica,
diferente da a"resentada anteriormente, as mesmas relaes funcio-
nais. So formas diferentes de dizer a mesma coisa.
Exerccios teis sobre funcionograma
1- Elaborar os funcionogramassetoriais e geral dos programas
dos seguintes temas: clube, museu, bibiioteca, creche, teatro, postode
sade, shopping center, aeroporto, estao rodoviria.
51
I
j
DIAiRANA 13
FUNCIONOGRAMA DA CASA DE VERANEIO
ELEMENTOS DO PROGRAMA
2- Elaborar os funcionogramas de outros temas conhecidos.
3-Extrai ros funcionogramas aparti rdaanl isedeprojetos arqui-
tetnicos.
4- Elaborar funcionogramas apartir das anlises de edificios.
ELENENTOS DO PROGRAMA
QUARTO DE EMPREGADA
SANITRIO DE EMPREGADA
VARAN DA
SALA DE ESTAR
COPA- COZINHA
QUAl'I:TO DE EMPREGADA
VARANDA
SALA DE ESTAR
. AR
SALA DE JANTAR
SANITRIO SOCIAL
SUTE SOCIAL
SUTE DOS FILHOS
QUARTO DE HSPEDES
COPA. COZINHA
REA DE SERVIO
GARAGEM
I
i.
I
TIPOS DE LIGAES:
~.
- I' GRAU (lIGAl.O DIRETA)
- 2' GRAU {LlGAl.O INDIRETA}
- 3' OU .. GRAUS (UGA.lO REMOTA)
53
QUINTO PASSO'
5.6 - PR-DIMENSIONAMENTO DO EDIFCIO
. Opr-dimensiona~ento doedificio, como oprprio nome indica,
o dimensionamento prevlo do projeto.
Calc.ule as reas de todos os elementos constantes no programa
arqultetonlco. Essasareasconstltuem-se nabasedimensional doedifi-
CIO. a ser usada na adoo do partido arquitetnico, especificamente
na segunda etapa, ada sintese criativa
Todo ra~iociniode elaborao de projeto arquitetnico envolve o
uso de referenclas dimensionais deespao. Hnecessidade, portanto,
de estabelecer previamente asdimenses correspondentes acada ele-
mento de>programa. So asdimenses necessrias aopleno exercicio
das funoes eatividades previstas para o tema.
. . Opr.dimensionamento, viaderegra, umtrabalho cujoenfoque
b,d,menslonal, relativo area.
. Ele feito como referncia dimensional, porm, pode ser poste-
riormente alterado, num percentual no muito grande. no mais que
1~%, ao longo do processo criativo do projeto, nas etapas de elabora.
ao do partido arquitetnico edo projeto, quando vosendo inseridas
outras variveis, diferentes das levadas emconsiderao naoportuni-
dade de elaborao do pr-dimensionamento, como, a modulao
estrutural e outras decises de projeto de natureza tecnolgica, afim
de aprimorar aidia do partido. Oresultado final aoaprimoramento das
areas dos elementos do programa leva o pr-dimensionamento ao
dimensionamento final do projeto. O pr-dimensionamento deve ser
feito tentando satisfazertodas asexigncias dimensionais doselemen-
tos do programa edas atividades efunes do tema. Quando odimen-
sionamento final semostra muito diferentedo pr-dimensionamento,
Sinal deque este ltimo no foi elaborado com inteno de chegar o
mais proxlmo possivel do resultado final: ou o dimensionamento est
resultando de raciocnios que tmpouco aver comosraciocnios feitos
na :Iaborao do pr-dimensionamento. muito freqente. naelabo.
raao do pr-dimensionamento. raciocinar com dimenses mnimas
p~ra cada. elemento do programa de qualquer projeto. Ou pela restri-
ao economica do projeto ou porque os cdigos de edificaes esta-
belecem o mnimo de reas decada cmodo. Ocerto que oraciocnio
dimensionai do pr-dimensionamento deve ser feito para atender o
54
objetivo traado. Ora pode ser mnmo, quando servir a uma edifica-
o que requeira rea mnima e, degrandes dimenses, quando neces-
srio. Oconceito do tema. seu objetivo, aclientela, as funes eativi-
dades so as diretrizes do raciocnio dimensional. E cada caso um
caso
O pr-dimensionamento sempre estabelecido interpretando-se
as exigncias dimensionais, emrea, das atividades que sero exerc.
das emcada cmodo listado no programa edas funes previstas.
Exemplo:
Suponhamos que o quarto do casal do projeto da casa para vera-
neio deve ter uma cama de casal de 1.4mx 1..8m; umarmrio de 2.0 x
O.6m; duas mesinhas de cabeceira com O.6mx O.6mcada uma. Imagi.
nemos, ento, umespao. rea,necessrio.para conter esses mveis.
Incluamos as circulaes emvolta deles com1.0m de largura. Repre-
sentemos essa imagem num croquis com as medidas corretas. Ver
croquis n~1. pgina 56. Odesenho mostraa hiptese dearrumaco de
todos os elementos admitidos como integrantes do mobilirio eneces-
srios ao atendimento das funes exercidas no cmodo, arrumados
de modo adequado. comos espaos das circulaes das pessoas para
o acesso aos diversos locais deste cmodo. Determinam-se assim as
dimenses do quarto de casal de 3.5m x 3.4m, que d uma rea de
11.9m2. Se as funes, atividades. eobjetos contidos no croquis feito
representarem de fato o necessi'irio atividade de dormir do casal.
evidente que area resultante deve refletir. comboa dose de certeza. a
necessidade de rea da funo quarto de casal. importante salientar
aqu i que area resuItante daelaborao do croqu isdepende. emparte.
da forma escolhida para ocmodo edas dimenses escolhidas paraes
mveis e para acirculao. Outras fermas e outras dimenses utiliza-
das para esses elementos do croquis produziro reas diferentes.
recomendvel, portanto. que setrabalhe comaforma que seapro;lime.
ao mximo, da situao imaginada para afuno. Desse modo o pr-
dimensionamento poderi'i estar bem prximo do que ser. Na realida'
de. no sedeve esquecer que esseexercicio serve apenas para seobter
area do pr-dimensionamento. Ele no representa umcompromisso
da forma do projeto. Nasetapas posteriores deelaborao do projeto, a
forma easdimenses estabelecidas nopr.dimensionamento podero
sofrer alteraes com a introduo de outras variveis no projeto.
Outro exemplo:
Suponhamos acopa-cozinha dessa mesma casa. or'de sero exer-
cidas as funes de copa para as refeies dirias da famlia ede cozi-
nha para o preparo e o cozimento dos alimentos das refeies. Na
cozinha, ento. podero estar, uma bancada com pia de 1.8mx0.6m;
umfogo de O.6mxO.6meumarmrio de 0.5mx1.2m. Nacopa haver
uma mesa redonda dedimetro igual a1.1m. comquatro cadeiras. uma
55
j
CROQUIS
CROQUIS PARA PREDIMENSIONAMENTO DO QUARTO
geladeira de O.7mx O.7me umaparador para colocar os pratos eapa-
relhoseletrodomsticos de O.35mx 3.7m. Representando emcroquis
essa copa-cozinha, onde seimaginam os dois ambientes-teremos um
desenho do cmodo no modo como est representado no croquis
nO2, pgina 58. O resultado do croquis dacopa-cozinha deu uma rea
de 18,36m2 comasfunes, mveiseespaodecirculaoimaginados.
MESINHA DE CABEU.ll<i\
Outro exemplo:
Suponhamos que anave da igreja catlica j referidaanteriormen-
te deva ser pr-dimensionada para atender a cento evinte fiis senta-
dos. Admitamos que o banco onde o fiel senta tenha as dimenses de
O.6m x 0.6m para cada pessoa e deixemos um espao de circulao
entre os bancos de 0.5m incluindo ai o lugar de ajoelhar-se, tendo cada
banco capacidade para seis pessoas. Coloquemos duas filas debancos
com dez bancos cada uma. Deixemos uma cirCulao dedois metros de
largura no centro, entre as filas de bancos ecirculaes laterais, com
ummetro emeio de largura emcada lado. Ocroquis nmer03, pgina
59, ilustra a idia da nave ea disposio dos mveis nela contidos. Da
primeira fila de bancos at a parede atrs do altar, deixemos uminter-
valo de trs metros onde estar o presbitrio como umprolongamento
da nave. Da ltima fila de bancos at aparede de entrada da nave, dei-
xemos um espao de dois metros como espao de circulao. Essa
arrumao da nave edo presbitrio da igreja, para conter umgrupo de
cento e vinte pessoas sentadas, dar como resultado area de 189,10m2
para as funes previstas com os mveis eespaos de circulao ado-
tados.
Mais umexemplo:
Suponhamos que a sala de aula da escola de 1~grau referida em
exemplos anteriores deva ser pr-dimensionada para atender a uma
turma de trinta alunos. Admitamos que a carteira, onde o aluno senta
tem as dimenses de 0.6mxOAm edeixemos umespao de ci'rculao
entre as cadeiras de 0.6m e de 1.0m nas laterais. Da primeira fila de
cadei ras at aparede onde est oquadro-negro, deixemos umintervalo
de 3.0m. Neste intervalo estar colocada acarteira eacadeira do pro-
fessore oespao de circulao emvolta. Representemosessasala num
croquis utilizando todos esses dados eobteremos umdesenho da sala
com a arrumao dos mveis e suas dimenses. Ver o croquis n~4,
pgina 60. O modo da arrumao da sala de aula para caber trinta alu-
nos sentados, deu como resultado a rea de 62.16m", para a funo
prevista com os mveis eespaos de circula~o adotados.
Essetipo deexercicio grfico, dedisparos mveise ascirculaes
necessrias num espao, imaginando-se as funes a serem ai exer-
cidas, ummeio prtico eeficiente deobter-se opr-dimensionamento
do edifcio e pode ser feito para todos os elementos componentes do
CAMA DE CASAL
MESINHA DE CABECEIRA
,
i
I: o
, ' < . D
' o
. I
D
, 90
::IRCULAAO
PORTA QUE U~ :'0 St..NITAf<IO
QUA TO
1.00 oGO .
,
, .
ARMRIO
PORTA DE ACESSO
57
J
r -
CROQUIS 2
CROQUIS DO PR. DIMENSIONAMENTO DA COPA. COZINHA
- .
CROQUIS J
CROQUIS DO PRE. DIMENSIONAMENTO DA .NAVE E PRESBITERIO
DA IGREJ A
I
I
I.
i
--' - ---- !'
I
;'R(Sf::lIT(HiO
J 600 M:'
I
I I I I
I I I I I I
I I I I : I
III1 D
I I
J i f L
I I I I I~
I I I I I~
I I I I Ig
I I I I I~
8
='le9.IOIv'.z)o=o=III~
I:]I I I I I'I I I [J:J~[
I I I I I I I. I 1 I 1 I I ~ !
NAVE I I I I ~_~II I
I I I1 11
'5250
"21,11 -'
i I I I I I I I' I I I I I li II
I I I I I I I I" I. I I I~ I \
1 '50 1 0"06,0605,06061 '00 '0/060606 OSlo ,,,L I :
t 1 I I 'L. " 1I
o
CO
O
, ,
I '
i
:1'1"I
1i ai"I
I::.............:
,
i
060 I n
,
MESA IQUt .Ti '1Q C:"DEIRr.S
,00 , 'O
COPA
,00
:~
N
: I
, I
PORTA PI
_ A SAI A
,. _. 1 220/
/ B. NCO OOS fiEIS
I
I
i
1
j
POT A
CROQUIS 4
CROQUIS DO PRE - DIMENSIONAMENTO DA. SALA DE AULA
I
! .
I
I
I
I
I
I
60m
2
20m
2
5m
2
15m
2
5m
2
105m
2
Setor social
Varanda .
Sala de estar .
Bar .
Sala da jantar .
Sanitrio social .
rea til do setor .
programa estabelecido. Sempre imaginando-se como deva funcionar
cada cmodo programado, tentando aproximar-se do que se admite
deva ocorrer de fato, quando o projeto for executado e a idia transfor-
mar-se em ambiente constru do e estiver sendo usado. Quanto mais
perto da realidade se chegar nesse exerc cio mais corretamente ter-se-
feito o pr-dimensionamento. .
Alguns dos elementos do programa, entretanto, so de dif cil
dimensionamento, como, o vest bulo da escola, ambiente que serve de
entrada e sa da das pessoas. Ele pode servir tambm para outras fun-
es simultaneamente quelas. Pode servir de portaria, de local de
espera para as pessoas que vo ser atendidas pela administrao e
pode, inclusive, servir como sala de exposies. Neste caso eemoutros
semelhantes, quando no se dispem de elementos informativos para
dimension-lo corretamente, estabelece-se arbitrariamente, por intui-
o, sentimento ou percepo das funes ai previstas, uma dimenso
para ele. O bom senso, a experincia e a sensibilidade para perceber a
.medida mais aoequada ao ambiente, dentro da dimensao do projeto.e
da estimativa dos usurios, so fatores importantes de auxilio do pr-
dimensionamento.
Quando se tiver exercitado, nesse processo grfico, com todos os
elementos do programa, ter-se- feito o pr-dimensionamento. Alguns
t tulos da bibliografia existente so auxiliares teis na tarefa de elabo-
rar O pr-dimensionamento. (Ver Neufert, Prock, Portas e Unesco) .
O pr-dimensionamento feito desse modo o das reas teis, as
reas utilizveis pelas funes e atividades programadas. Admitindo-
se que tenha sido feito o pr-dimensionamento de todos os elementos
do programa da casa para veraneio, utilizada como exemplo anterior, o
pr-dimensionamento das reas teis dessa casa. poderia ficar assim:
QUADRO NEGRO
J!IIi!ii'Ii~~~~~- --;
~ / " " \ .. I CARTEIRA 00 PROfESSOR
I I I
,
IOAD" " DO ALUNO
i I
. I
" I
1100 :04:
Q
6p2" :06 P " , : O 6 i0'::!5 P'" !P6P\ 'POI
7 40
w
O O O O O G
O
w
O
O
O O O
w
O O O
m O
w
O
O O O O
w
O O
0
w
O I,
O O O DO O
w
I:
O
l~
I i
U _ _ g~~~D_ O_ p.D_ D
Setor intimo
Su te do casal .
Su te dos filhos .
16m
2
16m
2
I
I
61
importante a soma das reas por setor etotal. Essas dimenses
sero utilizadas no raiocinio do partido arquitetnico. Podem-se des-
prezar as fraes de metro quadrado das reas teis no clculo do pr-
dimensionamento, aproximando para mais ou para menos do valor
inteiro mais prximo, sem que esse fato altere o clculo significati-
vamente.
Admitindo-se, j tenha sido feito o clculo de todas as reas teis
da igreja catliga, do exemplo anterior, o pr-dimensionamento dessa
igreja pode ser representado da seguinte maneira:
oestacionamento ficou fora deste clculo por no influir na rea
til do edificio da igreja.
Por outro lado, j tendo sido elaborado o clculo de todas as reas
teis da escola do primeiro grau, do exemplo citado anteriormente, o
pr-d imensionamento dessa escola pode ser representado daseguinte
forma:
Quarto de hspedes .
rea til do setor .
setor servio
Copa-cozinha .
rea de servio .
Garagem .
Quarto de empregada .
Sanitrio de empregada .
rea til do setor .
rea til total .
setor Culto
Ptio de entrada .
Nave .
Presbitrio .
Sacristia .
Batistrio .
Area til do setor .
Setor Administrativo
Hall de entrada .
Sala de Administrao
Sala de atividades .
Salo Paroquial................ .
Depsito .
rea til do setor .
62
12m
2
44m
2
15m
2
10m
2
15m
2
8m
2
3m
2
51m2
200m2
20m2
200m2
36m2
20m
2
2m 2
278m
2
10m2
30m2
30m2
60m2
15m 2
145m2
Setor Servio
Sanitrio pblico .
Sanitrio do sacerdote ; .
Depsito .
rea til do setor .
rea til total . c.;. ".
':: :,..=.:.' -
Setor Administrativo
Vestibulo de entrada .
Sala de espera .
Secretarfa .
Direto ri a .
Sala de administrao .
Mecanografia .
~rq uivo .
Area til do setor .
Setor Educacional
Salas de aula (8x 60m2) .......................
Sala de professores .
Sala de reunies , .
S. O. E. . .
Coordenao pedaggica
Auditrio .
Bibl ioteca .
Area til do setor .
Setor Servio
Recreio coberto
10m
2
4m
2
10m
2
. 24m
2
447m2
30m
2
15m
2
40m
2
20m
2
40m
2
15m
2
10m
2
170m
2
480m2
20m2
30m
2
15m2
15m2
1DOm 2
100m2
760m
2
150m2
63
I
j
rea tilto.tal 6.855m
2
Cama as reas que impo.rtam para o.raciacnia da idia do. edificio.
da escala so. as do.s seto.res administrativo., educacianal e servio..
suprimem-se para esse raciacinio. asreasda seto.rdeespartee recrea-
o.. Sendo. assim, a rea ti I a ser cansiderada de 1.205m
2
.
Os pr-dimensianamentas feitas assim, repetimo.s, so. o.s das
reas teis. Observa-se entretanto., que nesses pro.gramas faltam
alguns elementas e algumas reas de difici I preciso.. Na elabo.rao. do.
partido., surgem reas destinadas para circulaes, co.mo. para peque-
nas halls, para co.rredares, para escadas, para rampas, para elevadares
etc, asquaisso. imprevisveis, de difcil identificao. na pro.gramaena
pr-dimensianamenta. Alm disso., as paredes que so. indicadas na
prajeta acupam espao., tm dimenses significativas de reas e tam-
bm no. esto. incluidas no. clculo. da rea til. Cabe acrescentar um
percentual de rea, visando. co.mplementar afalta desses ele mentes de
dificil previso. na programa eafalta das suas reas na pr-dimensio.na-
menta para torn-lo mais co.mpleto.. O pr-dimensianamento. co.mple-
ta, cam as samas das reas teis mais as reasde circulao. e paredes,
d cama resultada a pr-dimensio.namenta da rea de canstruo.. A
rea de construo. a sema da rea til mais a rea de circulao. e
paredes. Para abter-se a rea de canstruo., acrescenta-se rea til
uma rea arbitrada para co.rrespander passivel rea das paredes e
circulao. do. prajeto.. Esse acrscimo. pede variar de 20%a 30% da rea
ti I.
Vamo.s to.mar a rea til do. seta r administrativo. do. pr-dimensio.-
namenta da esco.la, para exemplificar. O clculo. dessa rea deu 170m
2
.
Admitindo. um percentual de 30% para as reas de circulao. e pare-
Cantina , .
Depsito. .
Sanitria e vestirio. de alunas .
Sanitria de prafessares .
Sanitria e vestirio. de funcio.nrias ..'
Hall de funcianrias .
rea til da seta r .
Setar de esparte e recreao.
Quadra palivalente .
Campa de futebo.l .
Parque de recreao. .
rea til da seta r .
20m
2
10m
2
50m
2
10m
2
25m
2
10m
2
275m
2
600m
2
5.000m
2
50m
2
5.650m
2
des nesse setar,teramas que 30% de 17m2 so. iguais a 51 . A rea de
co.nstru a (ACl d~sse se.to.r Ser:
AC: 17m2+51m2.= 221m2.
Obt~-se: a rea de co.nstrua da pr-dimensio.namenta pela
sa~a daare~ utll m~ls avaiar, emrea, abtida no.clculo. do.percentual
da ~rea de clrculaaa e paredes feita cam area til. mais impo.rtante
a calcula das vaiares das reas de co.nstruo. das setares e do. teta I.
Esses vaiares serviro. cama referncias dimensio.nais da racio.cnia
das idias espaciais da partido. arquitetnica na segunda etapa do.pro.-
cessa de planejamento..
Cancludas a pragrama e a pr-dimensio.namenta do.edificio. a ser
prajetada, canvm resumir essas infarmaes num quadro nico., "';as-
."tranda as elementas do. pragrama esuas respectivas reas par unidade
e setar, distinguinda~rea til e de co.nstruo.. Oquadra 1, pgina66,
mast~a a cansalldaaa da pragrama e da pr-dimensio.namento. da
resldencla para veraneia que est servindo. de exemplo., admitinda-se
cama calculadas, pela mtada de elabarao das cro.quis todas as
reas teis. '
Na quadro. 1citada, encantram-se a listagem de to.do.s o.selemen-
tas ~apragrama, as reas teis co.rrespo.ndentes par unidadee setare
as areas de co.nstrua respectivas par seta r e teta I, admitindo.-se
cama percentual da rea de circulao e paredes 30""-.
64
65
I
I
Quadro 1
Sntese de Programa e pr-dimensionamento da casa para veraneio'
.
PROGRAMA PR-DIMENSIONAMENTO
-
..
, .
rea til 30"i. de rea de
(m
2
) ,
circulao Construo
e paredes (m
2
)
(m2)
--
Varanda, 60
Bar 5
Sala de estar . 20
Sala de jantar 15
Sanitrio social 5
Area do setor 105 31.5 136.5
Setor intimo
Sute do casal
16
Suite dos filhos
16
Quarto de hspedes
12
Area do setor 44 13 57
Setor servio
Copa-cozinha
15
rea de servio
10
Garagem
15
Quarto de empregada
9
Sanitrio/empregada
3
Area do setor 52 15 67
rea total 201 59.5 260.5
,
Observao: Nos clculos efetuados, foram desprezadas as fra-
es de metro quadrado, aproximado o valor para o nmero inteiro
mais prximo, para o maior ou menor, conforme o caso,
Admitindo-se j tendo sido elaborados os clculos de todas as
reas teis dos edifcios da igreja e da escola do primeiro grau, segun-
66
l __ c-
do o' mtodo dos croquis e utilizando-se o percentual de 30% para o
clculo das reas de construo, os quadros 2 e 3, s pginas 6 69,
.mostram as reas teis por unidade e por setor dos prgramas, os
percentuais aacrescentar, de rea de circulao e'paredes easreas de
construo pOfsetor e total. Adotou-se tambm nestes exemplos. o
percentual, 'de 30% arbitrado. importante salientar que o'percentual
pode serdiferented 30% aqui admitido. Ele vai depender de cada pro-
jet') e de cada setor. O projetista que deve arbitrar. segundo a sua
percepo, do que vai precisar ou utilizar de circulao e paredes. O
percentual utilizado nos exemplos dados foi o mesmo para os progra-
mas e setores. apenas para facilitar o raciocnio e a compreenso. No
programada casa deveraneo, o setor social pode ter percentual menor
do queos dos demais setores. sem com isso cometermos erro de gran-
de monta na avaliao das reas de construo. porque esse setor, via
de regra. tem menos circulao que os demais. Idntico procedimento
pode ser feito para' os setores culto da igreja e administrativo da escola.
No quadro 3,admitiu-se tambm que aescola ter oito salas de aula
e no se incluiu no clculo do pr-dimensionamento o setor de esporte
e recreao, porque esse setor no parte integrante das reas teis e
de construo do edifcio da escola. Ele vai ser parte do raciocnio de
zoneamento, quer dizer, da distribuio espacial no terreno dos seto-
res do programa.
I'
i
Ouadro2
Ouadro3
Sntese de programa e pr-dimensionamento de escola de primeiro grau
..
rea til 30% de rea de
(m2) circulao Construo
e paredes (m2)
(m2)
Setor Administrativo
Vestbulo de entrada 30
Sala de espera 15
Secretaria 40
Diretoria 20
Sala de administrao 40
Mecanog rafia 15
Arquivo
10
Area do setor 170 51 221
Setor EduClcional
Salas de aula (8 x 60m
2
) 480
Sala de professores 20
Sala de reunies 30
S.O.E.
15
Coordenao pedaggica 15
Auditrio
100
Biblioteca
100
Area do setor 760 228 988
Setor Servio
Recreio coberto
150
Cantina
20
Depsito
10
Sanitrio e vest. de alunos 50
Sanitrio de professores
10
Sanitrio e vest. de fune.
25
Hall de fUr:lcionrios
10
Area do setor 275 82 375
rea total 1.205 361 1.566
Sntese de Programa e pr-dimensionamento da igreja catlica
PROGRAMA
PR-DIMENSIONAMENTO
..
rea til 30% de rea.de
(m2) Circulao Construo
e paredes (m2)
(m2)
Setor Culto
Ptio de Entrada
20
Nave
200
Presbitrio
36
Sacristia
20
Batistrio
2
rea til do setor
278 83 361
Setor Administrativo
Hall de Entrada
10
Sala de Administrao
30
Sala de Atividades
30
Salo Paroquial
60
Depsito
15
Area til do setor 145 43 18B
Setor Servio
Sanitrio pblico
10
Sanitrio do Sacerdote
4
Depsito
10
Area ti I do setor 24 7 31
rea total 447 133 5BO
. -
Observao: Nos clculos efetuados, foram desprezadas as frae~
metro quadrado, aproximando o valor para o nmero inteiro mais
prximo, para o maior ou menor, conforme o caso.
68
1 ;:,_
. : : r -
PROGRAMA PR-DIMENSIONAMENTO
69
1
.
l
I
Observao: Nos clculos efetuados, foram desprezadas as fra-
es de metro quadrado, aproximando o valor para o nmero inteiro
mais prximo, para o,maior ou menor. conforme o caso.
Exerccios teis sobre pr-dimensionamento:
1- Elaborar os croquis de todos os elementos do programa da
casa de veraneio para obter as medidas do pr-dimensionamento.
2- Elaborar os croquis oe todos os elementos do programa da
igreja catlica para obter as medidas do pr-dimensionamento.
3- Elaborar croqu is detodos os elementos doprog ramadaescola
do primeiro grau para obter as medidas do pr-dimensionamento.
4 - Elaborar croquis de todos os elementos dos programas dos
seguintes temas: clube, museu, biblioteca, creche, teatro, shopping
center, aeroporto, estao rodoviria, para obter os pr-dimensiona-
mentos correspondentes,
5 - Fazer croquis de levantamento cadastral de ambiente que
habite com dimensionamento do espao eobjetos existentes epropor
novos arranjos de funes ede distribuio do mobilirio eobjetos.
S.7-RESUMO
Obtidas as informaes bsicas sobre os aspectos conceituais,
isto , oconceito do tema, acaracterizao daclientela edas funes, o
programa arquitetnico, o pr-dimensionamento do edifcio e'ofun-
cionograma: forma-se o qudro -das informaes teric~s do tema
arquitetnico com oqual o projetista trabalhar naelaborao do par-
tido. Na realidade esse quadro constitui-se no primeiro elenco das
decises de projeto que, ao longo do trabalho de planejamento arqui-
tetnico, vo sendo tomadas, cada uma ao seu tempo e na etapa ade-
quada. Essas decises iniciais deprojeto, que podemser denominadas
de decises de conceito, na prtica, podem ser obtidas pelo projetista
atravs de pesquisa, como tambm podem ser fornecidas pelo cliente
do projeto. Elas, as decises deconceito, constituem diretrizes do par-
tido eeste deve ser concebido como fim de atend-Ias.
Todas as informaes obtidas para forma, quadro dos concei-
tos do tema podem ser compactadas edispostas sinteticamente num
resumo de at duas folhas de papel. Numa primeira folha, disposta ao
modo de uma ficha, colocam-se os dados dos trs primeiros aspectos
conceituais: o conceito, oprograma eo pr-dimensionamento. Ocon-
ceito resume-se numa frase que define o objetivo principal do tema.
A seguir, faz-se a listagem do programa arquitetnico disposta no
sentido vertical, um elemento abaixo do outro, sempre agrupando
esses elementos por setor, de acordo comas afinidades de funes e,
ao lado do programa, o pr-dimensionamento, distinguindo as reas
70
."
,,""
teis de todos os elementos do programa e total por setor. Noutra
coluna, dispem-se as reas de construco oorsetor etotal. Conform"
est exemplificado nos quadros 1, 2e3, s pl)inas 66, 68e69. Naoutra
folha coloca-se o funcionoQrama. confnrme j foi ex'erripfiflcado nos
diagramas 8, 9e 10, s pgi~a~4S, 46 e47.
~sse resumo visa facilitaro manuseio dos dados pelo.projetistanos
momentos necessrios, emoutras etapas do planejamento arquitet-
nico, e pode ser tambm mentalizadq'sem.djficuldades para us-lo na
fase d.esinte!ie criativa.
71
I
.'-
6- ASPECTOS FSICOS DO TERRENO ESCOLHIDO
6.1 - INTRODUO
As informaes bsicas sobre oterreno so, defato, oembasamen-
to de natureza fisico-espacial com o qual conta o projetista para eta-
boraro partido arquitetnico. Essas informaes dos aspectos fsicos,
formam juntamente com as informaes dos aspectos conceituais
analisadas anteriormente no item 5, o binmio conceitual-espacial
indispensvel considero no planejamento arquitetnico.
As informaes bsicas referentes aos aspectos fsicos do terreno
podem ser obtidas por meio detrs ordens deprocedimentos. Uma, a
da escolha do terreno. Outra, a decorrente da anlise da planta do
terreno. E a terceira decorre da anlise das caracteristicas do terreno
ou aele relacionadas. Todas essas informaes podem estar incluidas
nos nove tpicos seguintes, numerados deseis aquatorze, seguindo a
seqncia do processo de adoo do partido arquitetnico, os quais
constituem o elenco dos passos aserem dados para aformulao do
quadro das variveis fisicas. So eles:
6) A escolha do terreno;
7) A planta do terreno;
8) A forma eas dimenses;
9) A conformao do relevo;
10) A orientao quanto ao sol;
11) A orientao quanto aos ventos;
12)Os acessos;
13) As relaes com o entorno;
14) A legislao pertinente.
Comas informaes obtidas daanlise desses tpicos, oprojetista
saber sobre todas as variveis relevantes do terreno que vo exercer
influncia na idia do partido.
O terreno escolhido deve ter as caractersticas que atendam ao
objetivo do edifcio aser projetado, aos aspectos conceituais do tema,
portanto. Aplanta do terreno deveser feita demodo afornecer os dados
que permitam fazer as anlises das caracteristicas fsicas. Por fim, as
caracteristicas fsicas doterreno informaro sobre asdiversas peculia-
ridades do terreno escolhido. as quais podem influir emgrau maior ou
73
I
I
I '
I
I
r
I
!
I
I
menor, conforme ocaso, nas decises do projeto, isto , n:::sidias que
nortearo asoluco arauitetnica.
" important analisar essas variveis com o fim de perceber, no
terreno escolhido, at onde sua forma e suas dimenses influiro na
forma e nas dimenses do edifcio. De que modo a conformao do
revelo do terreno compromete a soluo do partido. Ograu de com-
promisso do terreno comrelao sposies do sol nasdiversas horas
do dia e nas estaes do ano. As incidncias dominantes dos ventos
com relao aos lados do terreno. As disponibilidades de acesso de
pessoas, deveiculo edeobjetos aoterreno eaoedificio. As relaes do
entorno que podem exercer influncia nas consideraes relativas ao
edifcio. As restries e diretrizes impostas edificao e ao terreno
pela legislao urbanstica e de construo pertinente, emvigor na
municipalidade. .
Perceba que asanlises obtidas nos passos oito, nove, dozeetreze
so feitas com base nos dados do terreno extrados da planta e de
observao local. As outras anlises, dos passos de.zeonze so feitas
observando dados contidos emgrficos ou de modo sumrio eexpe-
dito no local. Osgrficos contm as incidncias dos raiossolarese dos
ventos dominantes relacionados comaposio geogrfica do terreno.
Aanlise da legislao pertinente, referida no passo quatorze, diz res-
peito observao das normas legais contidas na legislao. princi-
.palmente no cdig9-.ge obras ede urbanismo existente n~municipali-
dade, que digam respeito ao terreno eedificao aser feita no local
escolnido.
Siga esses passos.
74
SEXTO PASSO
6.2- ESCOLHA DO TERRENO
oterreno destinado implantao de umedificio deve ter certas
caracteristicas fisicas compatveis com o uso a ser dado ao edificio
basicamente aotema arquitetnico, aoseuobjetivo principal eclien:
tela. Quando se quer fazer uma residncia, o terreno a ser escolhido
deve ter as caractersticas que satisfaam oobjetivo do uso residencial
do edifcio. O terreno destinado a um mercado deve ter tambm
cl,lractersticas fisicas satisfatrias ao uso previsto, sendo que as exi-
gerlclas das caractersticas fisicas desse terreno certamente no corres-
pondero s exigncias, no c~njunto, com as eXigncias para uma
residncia, visto que oobjetivo do tema mercado diferente do da resi-
dncia. Cada tema arquitetnico temumobjetivo peculiar erequer um
terreno adequado s exigncias desse objetivo edesse tema.
A seleo de local para a implantao de edificio constitui aesco-
lha do terreno. A esclha do terreno deve obedecer a critrios de sele-
o previamente estabelecidos. Os critrios so as razes de escolha,
so as motivaes pelas quais aescolha feita. So muitas as motiva-
es pelas quais se escolhe umterreno. H motivaes, tais como, a
mudana de bairro ou de vizinhana; de melhoria de status social; de
localizar-se prximo ouvizinho aparentes eamigos eassimpor diante.
Essas motivaes deescolha so razes subjetivas, critrios pessoais.
Analisaremos aqui o caso emque aescolha de terreno para implantar-
seoedif cio feita tomando-se como basedeaval iao critrios deriva-
dos de aspectos tcnicos, impessoais, respeitadas as peculiaridades
de ordem conceitual do tema e visando otimizar o possvel uso das
caractersticas do terreno eml;>eneficio da sol1J oarquitetnica.
Alguns aspectos tcnicos devem ser observados na escolha do
terreno para aimplantao do edifcio, constituindo-se esses aspectos
elementos importantes dos critrios de seleo. So eles:
a) A localizao;
b)A rea;
c) O relevo;
d) A orientao quanto ao sol eaos ventos dominantes;
e) As vias de acesso eas facilidades de transportes;
f)A urbanizao e otipo de vizinhana;
g) Os servios pblicos (abastecimento de gua eenergia, rede de
75
esgotos, de guas pluviais, etc.);
h) Restries e permisses de uso, contidos na legislao per-
tinente;
i) Custo.
Esses aspectos tcnicos podem ser observados, emtodo ou em
parte, dependendo do objetivo do tema arquitetnico. H outros
aspectos que, eventualmente podem ser acrescidos aesses j listados,
se forem julgados significativos para a escolha, tais como: o revesti-
mento florstico do terreno, o seu entorno, o subsolo, aforma, etc.
A localizao do terreno umdos mais importantes aspectos aser
analisado na escolha. A localizao diz respeito posio geogrfica
do terreno relacionada ao contexto da cidade, do seusetor urbano, do
bairro, at do loteamento onde se situa edas vantagens que aposio
dele no local oferece para o edificio aser implantado. Quando seesco-
lhe terreno para a construo de uma escola, busca-se localizao
adequada ao bom funcionamento dessa instituio e isto significa
dizer inseri-Ia emsetor urbano ou bairro onde se encontra aclientela
provvel de atendimento, principalmente ao grupo de usurios cons-
titudo pelos jovens emidade escolar que caream dos servios educa-
cionais oferecidos pela escola. Quando aescola faz parte de planeja-
mento de rede escolar, a sua localizao envolve a observao das
reas urbanas no cobertas pelo atendimento da rede existente e a
posio do vazio deatendimento clientela que temprioridade sobre
as demais 'reas.Outra referncia a .ser utilizada como critrio
neste caso de localizao aobservao dos fluxos deorigem-destino
dos ah:mos, para que o deslocamento deles casa-escola no sed por
uma distncia ou tempo maior que o desejvel. Quando se escolhe
terreno para residncia, aseleo dever recair emlocal adequado, em
bairro cujo uso dos terrenos seja oresidencial esatisfaa aoobjetivo de
vida desejado pela familia. Quando seescolhe terreno para implantar
igreja, a seleo dever recair numa localizao compatvel com sua
finalidade, inserida no meio da comunidade a que vai servir, sua
clientela, especialmente os fiis. Quando seescolhe terreno para im-
plantar edifcio comercial (loja, mercado, centro comercial, etc.), a
seleo dever recair numa localizao estratgica para atender
clientela prevista, principalmente ao grupo de usurios constituido
pelos consumidores empotencial dos servios aserem oferecidos no
edifcio. A localizao do terreno responde, essencialmente, pela
combinao dos interesses comuns aotema arquitetnico, daclientela
do tema, das suas funes e atividades previstas edas caractersticas
fsicas do local. .
A rea do terreno outro aspecto de grande importncia a ser
obs~rvado na escolha. Ote~reno deve ter rea conveniente implan-
taa o do edlflclO. A dlmensao da area deve ser estimada tomando-se
por base o pr-dimensionamento do edificio eas exigncias estabele-
Cidas pela legislao pertihente que cria as restries epern;isses de
uso do terreno, espeCialmente a referente ao percentual de ocupao
76
permitido no local para o edifcio e seu objetivo principal. Os terrenos
destinados ao uso residencial tm comumente seu uso restringido
ocupao mxima de metade da rea. Isso significa dizer que, num
terreno de quatrocentos metros quadrados derea, oedificio spode-
r ocupar no plano horizontal duzentos metros quadrados. Conside-
rando o edifcio de uma escola com as seguintes ondies: o pr-
dimensionamento de ummil equinhentos metros quadrados derea
de construo, deva ter apenas umpavimento eaocupao permitida
do terreno seja de cinqenta por cento da sua rea. O terreno a ser
escolhido precisa ter rea minima de trs mil metros quadrados. Se
existir no programa arquitetnico da escola o setor de recreao e
esporte com pr-dimensionamento de trs mil e quinhentos metros
quadrados de rea eeste no esteja incluido no pr-dimensionamento
do edifcio, oterreno aser escolhido para aescola dever sermaiordo
que o previsto antes. Dever ter rea mnima de cinco mil metros
quadrados para essa ocupao. Nesse caso, a ocupao do edifcio
fica aqum do mximo permitido. Ser de trinta por cento. Conside-
rando-se ainda haver necessidade dereapara estacionamento dentro
do terreno, para acessos, outras exigncias de projeto no inudas
nas cogitaes anteriores, area de terreno que aescola precisa po-
der estar situada nos limites entre sete adez mil metros quadrados.
Sese levarem considerao uma varivel, ada possivel ampliao das
instalaes da escola no futuro, area aserestimada dever ser maior
ainda. Se, por outro lado, for relacionada area doterreno onde vai ser
localizado o edifcio como nmero de pavimentos que ela vai ter ese
esta deciso de projeto jtiver sido tomada antes paraservir derefern-
cia, a exigncia de rea pode diminuir, tendo emvista que area da
ocupao horizontal do edifcio no terreno diminui medida que for
aumentando o nmero de pavimentos do edifcio. A rea do terreno
responde, essencialmente, pela combinao dos interesses comuns
do pr-dimensionamento do edifcio, das exigncias dalegislao per-
tinente quanto ocupao e nmero de pavimentos.
Orelevo do terreno outro aspecto aser considerado naescolha. O
relevo o conjunto dos elementos componentes da conformao do
solo. Com relao escolha do temeno, aconformao do solo pode
ser analisada segundo dois nveis de consideraes: um, refere-se
relao do terreno comos demais terrenos .suavolta. Nessenvel clas-
sifica-seo terreno emtrs situaes: odealtiplano, que sesitua no alto
do relevo; ode encosta, oque sesitua emplano inclinado do relevo; eo
devale, que sesitua naparte baixa do relevo. evidente queo altipiano
desfruta de melhor situao pelas vantagens que oferece localiza
do edifcio; eovale, ao contrrio, levadesvantagem para alocalizao.
Contudo, essas caractersticas devem ser avaliadas emcada caso de
sel.eo do terreno. Haver caso emque ovalemais conveniente queo
altiplano para a localizao de determinado edificio. Seo acesso ao
77
I
, '
i
I
!
altiplano difcil eingreme,perdeimportncia para.ovale, que oferece
facilidade de acesso. Exemplo contrano aesse, porem: OCOrria;~opas-
sado, quando da escolha de terreno para a~mplantaao <;loed,f,c,o de
igreja nas cidades: o altiplano com acesso mgreme ed,!,cil era pref.l!.-
rido, no s pela posio de destaque em que a 'greJ a se s,tuava:m
relao s outras edificaes urbanas, para simbol,zar apredomman-
cia do poder espiritual sobre oterreno, como pela dificuldade de aces-
so para propiciar ao fiel penitente, sacrificar-se na caminhada at o
templo, como um processo de purificao da alma e de pe~do d()s
pecados. O outro nvel de considerao do relevo refer~-se a confo:-
mao: aplanaadoterrenotodo contido numplano honzontal"stoe,
toda asua superfcie situa-se numa mesma cota de n,vel. Aconforma-
o inclinada ado terreno contida emplano mclinado ou emm~lma-
es variadas, aclives elou declives, com ou semsenlidoge?metnco
regular, com vrias cotas de nvel. Oterreno plano, empnnc,p'o. le~a
vantagem sobre oterreno inclinado, posto que? terreno plano ,mpoe
menos restries que o inclinado na ,mplantaao do ed,f,c,o, embora
valha repetir que cada escolha requer o estabelec,mento de cntenos
particularizados para o tema e seuobje_tivo. Orelevo do terreno res-
ponde, essencialmente. pela combmaao dos mteresses comu~s do
tema arquitetnico, doseu objetivo principa~ do modo deocupaao do
terreno pelo edifcio edo custo da construao.
A orientao do terreno quanto ao sol e aos_ventos r~veste-se de
importncia na escolha, por tratar-se de cond'oes que vao InflUir no
conforto trmico e. climtico do edifcio e dos ambientes i!l-!ernos.
Essas condies variam de regio para regio geogrfica onde sesitua
oterreno. Emnossa regio, aquesto da orientao quanto ao sol diz
respeito ao iluminamento a insolao. Quanto ao iluminamento, a
preocupao mais deatenuar odesconforto provocado pelo excesso
de iluminao emenos pela falta. Quanto insolao, apreocupao
de atenuar seu efeito calorfico, prprio das regies tropicais e no
busc-lo, como ocorre nas regies de clima frio onde a insolao
pouca. Quanto aos ventos, a orientao corresponder vantagem,
quando estes tendem aabrandar o efeito desagradvel do calor tropi-
cal eadesvantagem quando, nas estaes chuvosas, as rajadas fortes
de vento carregam a chuva castigando as superfcies das paredes do
edifcio epenetrando emseu interior atravs das suas envasaduras. Na
escolha de terreno para implantar edifcio, deve-se dar preferncia
sempre ao que sesitua emposio tal que apresente omximo devan-
tagens e o mnimo de desvantagens quanto orientao do sol e dos
ventos. Adiante, nos passos dez eonze, que tratam das variveis fsicas
deorientao quanto aosol eaos ventos dominantes, esto explicados
os modos deverificar asvantagens edesvantagens dessas orientaes.
A orientao 'do terreno responde, essencialmente, pela disposi-
o do edificio, dos setoreseelementos do programa arquitetnico no
terreno e nos pavimentos.
As vias de acesso-i! as fcilidades de transporte tambm consti-
78
tuem fatores relevantes da escolha de terreno. Osistema virio urbano
constitudo devias hierarquizadas segundo aimportnciaquetm no
sistema. H as vias primrias de trfego, naespinha dorsal do sistema,
por onde circulam os veculos de todas as categorias (automveis,
caminhes, nibus etc.) concentrand-6 maior volume ,deles. As vias pri~
.rT1.riasso as que propiciam a.circulao principal d distribuio.de
veculos do centro aos bairros evice-versa e de uns com os outros. O
sistema secundrio composto das vias que.fazem a distribuio do
trfego secundrio, oque deriva do sistema primrio esedistribui nos
bairros pelas vas locais. Estas ltimas, portanto, so as que distribuem
o trfego local. Muitas delas so terminais de trfego ou vias de uso
predominante residencial. As vias deacesso tmcaractersticas distin-
tas no sistema virio. Essas caracteristicas so usadas na escolha de
terreno para edifcio, dependendo dotema arquitetnico edo seuobje-
tivo. As funes e atividades previstas para o tema arquitetnico do
edifcio tambm tm hierarquia no mbito de sua atuao. Has que
so de mbito local devizinhanas restritas ao interior do bairro: aresi-
dncia, a padaria, oaougue, afarmcia, oarmazm. Os edificios com
atividades, desse mbito de ao podem edevem local izar-se emvias
locais, prximos ao local da clientela aque vai servir. H temas arqui-
tetnicos cujas funes eatividades abrangem ummbito de atuao
maior, detodo bairro ou devrios bairros, tais como, aescola secund-
ria, omercado, o cinema etc, epodem localizar-se emvias secundrias
de maior universo de trfego. H temas arquitetnicos que requerem
localizar-se em vias primrias: o shopping center, pelo universo de
atuao que tem sobre toda aclientela urbana. Dito isso, observa-se a
necessidade de escolha do terreno tendo em vista as vias. Alm das
caractersticas da via no sistema virio, importante observar aquali-
dade da via, considerando-se oseutipo depavimentao. Avia que tem
uma boa pavimentao leva vantagem sobre aque no a tem. As vias
que facilitam a circulao dos transportes existentes at o terreno
tambm apresentam vantagens para escolha doterreno. Nocaso, trata-
se do transporte coletivo. As vias de acesso e as facilidades de trans-
porte respondem, essencialmente, pela combinao dos interesses
.comuns do tema arquitetnico, de seu objetivo principal eda clientela
prevista.
Considerar a urbanizao como critrio de escolha de terreno
significa dar importncia ao crescimento urbano da rea onde ele ser
loc.alizado, pensa_ndo-se no futuro da organizo aque oedificio ser-
vira. A urban,zaao tanto pode constituir vantagem quanto desvanta-
gem na escolha de terreno. A urbanizao acelerada de umbairro, em
geral, exige substtuio defunes umas por outras. Numbairro onde
exista um processo de transio de usos, h sempre asubstituio de
residncias por edifcios de uso misto, residencial ecomercial eservi-
79
! .
. ~s o~por ed~fcios s para uso comercial ou de servios. Nessa urba-
n1zaao, o bairro tende a ser menos residencial e mais de comrcio e
servios. A escolha de terreno num bairro de urbanizao acelerada
pa!a atividade comercial e de servios recomendvel e o critrio de
urba~l~ao passa ater i?1portncia,. enquanto para residncia, nessas
condloes, nem sempre e recomendavel. A falta de urbanizao de uma
rea urbana, por outro lado, desestimula a implantao de empreendi-
mentos em terr~nos localizad.os nessa rea, a menos que sejam ativi-
dades co~ carater de p,one,nsmo ou que requeiram localizao dis-
ta.nte das areas densamente urbanizadas. O tipo de vizinhana tam-
bem um aspecto da escolha que pode influir tanto vantajosa quanto
desvantaJ osamen.te na deciso. A vizinhana tanto podesercompativel
quanto Incompatlvel com o tipo de atividade do edifcio a ser implan-
tado no terreno.
Um hospital no deve localizar-se na vizinhana de clube carna-
valesco; uma .escola no deve localizar-se na vizinhana de posto de
gasolina, de fabnca, de outros edificios que produzem poluio sono-
ra, deodor, de fumaa ou fuligem etc. Poroutro lado, acompatibilidade
de usos entre o edifcio e os de sua vizinhana deve ser buscada na
escolha do terreno; A compatibilidade combina interesses e funes
afins, numa convlvenCla harmoniosa.
Os servios pblicos tm tambm papel importante na escolha de
terreno. A existncia de redes de gua e energia eltrica no local ou
prximo cria condies favorveis a essa escolha. E o contrrio
desfavorvel. Do mesmo modo, vantajoso quando existe rede de
esgotos e de guas pluviais.
_ As restries e permisses de uso do terreno contidas na legisla-
ao pertinente ao assunto, no cdigo de obras e de urbanismo, em
certos casos constituem fatores de estmulo ou de desestimulo esco-
lha do terreno. A legislao urbanistica feita em grande parte para
estimular ou restringir usos em determinados setores urbanos, quando
se quer induzir ou reduzir o crescimento em certas direes. Isso influi
na localizao do edifcio pela restrio de uso.
O custo do terreno tambm pode pesar na escolha e, em muitos
casos, constitui fator decisivo.
Vistos os aspectos mais importantes da escolha de terreno para
implantao de edifcio, percebida a importncia de cada um deles e o
papel que cada um pode exercer. vale a pena uma referncia sObre
como ;:>roceder para selecionar um dentre os terrenos visados para a
escolha. O passo aserdado estabelecer um mtodo de seleo segun-
do critrios objetivos e impessoais tanto quanto possvel. Para isso
necessrio realzar, inicialmente, a anlise dos aspectos tcnicos que
devam ser exigidos para que o terreno satisfaa as exigncias do tema
arqutetnico, de seu objetivo, da clientela prevista etc.
80
Em seguida determinao desses aspectos, atribuir vaiar pon-.
dervel, de acordo coma importncia dada a cada aspecto particular,
visto no conjunto das exigncias. De posse desses elementos, exami-
nar os terrenos visados pela escolha, consignados em ficha de anota-
es para cada terreno os dados que o caracterizam, atribuindo notas
para formar a classificao que permita confrontar com as demais
classificaes e o resultado final.
Exemplos:
a) A escolha do terreno destinado implantao da casa de vera-
neio referida anteriormente baseou-se nas seguintes condies: ter-
reno de loteamento destinado a lazer e veraneio, contando com rua
pavimentada. rededeenergiaeltricaedegua, rede de guas pluviais,
localizao beira mar, em processo de urbanizao. com vizinhana
quase totalmente consolidada; plano. com quatrocentos e trinta me-
tros quadrados de rea. acesso para duas ruas, orientao satisfatria
quanto ao sol e aos ventos. A planta do terreno esta mostrada no grMico
1, pagina 82.
b) O terreno escolhido para implantao do edifcio da igreja aten-
deu s seguintes exigncias: localizao no centro do bairro a que vai
servir, em area de uso institucional previamente destinada pelo TA.C.
_ Termo de Acordo de Loteamento-, contando com rua pavimentada
para esse fim, voltado para a via principal, contando com rede de ener-
gia eltrica e abastecimento de gua no local, de guas pluviais; plano.
com dois mil metros quadrados, acesso para duas ruas, orientaes
satisfatrias quanto ao sol e aos ventos. A planta do terreno esta mos-
trada no grafico 2, pagina 83.
c) O terreno escolhido para a implantao do edificio da escola do
primeiro grau atendeu s seguintes exigncias: localizado prximo ao
centro do bairro onde existe a maior parte da clientela da instituio,
contando com rua pavimentada em um de seus lados, de forma retan-
gular prximo ao quadrado. com rea de oito mil metros quadrados,
situado na via secundria, distante do trMego intenso da via principal,
contando com rede de energia eltrica. abastecimento de gua ecapta-
o de aguas pluviais no local: inclinado. em declive da frente para o
fundo. acesso para r~a sem maiores problemas. orientao quanto ao
sol e aos ventos satisfatria. A planta do terreno est mostrada no gr-
ficc 3, b pgina 86.
Er.erccios teis sobre a escolha do terreno:
1) Elaqore os critrios de seleo pa~a escolha de terreno para os
s2guintes ternas: clube. museu, biblioteca, cieche, teatro, shopping
center, estao rodov:ria. Levar em considerao 35 informaes
baslcas conceituais (conceito. programa. pr-dimensionamento) ela-
81'
"GRAFICO
PLANTA 00 LOTE 4 DA OUADRA DO - I
t,.OTEAMENTO VILAS 00' ATLANTICO LAURO DE FREITAS - SA.
PLANTA 00 TERRENO DA 16REJ A
VIL AS DO ATLNTICO - LAURO DE FREITAS.
RUA B
LOTE 15
,
8
8
")0 9
N
\
~a~~(IO ~
..-.-.-
--
-
OE IT.t.PO.
Ao'" PRll.If\.
LOTE 12
REA' 2.000.00/142
-----
I
; I
"
"
' Ou
"
~
.
<
!
,
I; !
i ~ ~
II ~ , o
i I ~ :
"' I
.,
~
"
o
PLANTA DE LOCAlIZAO
'.000
><
PRAA , PiSS(IO
.'"
u~
ESCALA l:
/
/
'"
,
I
g ;
,
,,
~;
,
- ",olCi
'"
,
'~'J
-
8
" "
-,
LOTE 4 "
,
E 3
,
o LOTE 5
o
ARE A :, 0432.00 M2
o
~
o
~
, N
8
'"
,~~o
"
o
LOT
RUA A
.~ corA 700'"
" l j ~
_::::::L .... :; l ...~..
ESCALA GRA'FICll
ESCAlA 1.200
O"J .~ 00 I~
IT',:r:L 1
ESCALA GRF'lCA
ESCALA I: 500
boradas nos .exerccios sobre esses temas.
2) Observe alguns edifcios onde j identificou o tema arquitet-
nico e seu objetivo principal e procure entender que critrios de sele-
o possivelmente foram adotados na e.scolha doterreno.
3) Observe as compatibilidades e incompatibilidades com relao
a aiguns edifcios, previamente identificados o tema e seu objetivo e
suas localizaes, como, clubes, hospitais, escolas, postos de sade,
postos de gasolina etc.
4) Observe, sob o ponto de vista da localizao, os edifcios nsti-
tucionais da cidade e relacione-os com a urbanizao.
84
STIMO PASSO
6.3 - PLANTA DO TERRENO
O terreno a ser utilzado na elaborao do projeto deve estar
representado numa planta, reproduzido numa escala reduzida e ade-
quada ao uso a lhe ser dado. A planta deve conter todas as informa-
es tcnicas esclarecedoras de todas as particularidades do terreno
que devem ser do conhecimento do projetista. A planta resulta de le-
vantamento topogrfico para esse fim realizado. Ele , portanto; o ele-
mento bsico do qual todas as informaes sobre os aspectos fisicos
so xtraidos ou delas deocrrem.
A planta do terreno deve conter as seguintes informaes:
a) Desenho do terreno na escala adequada comsua forma e suas
dimenses exatas: as medidas dos comprimentos dos seus lados e a
dimenso de sua rea;
b) A rua ou ruas que o limitam, sua largura e comprimento, os pas-
seios e suas larguras;
c) O relevo, plano ou inclinado, com cotas de pontos de nvel
quando plano e curvas de nvel, quando inclinado, indicativas da alti-
metria;
d) Indicativo da direo do norte, um dos pontos cardeais que
integra a rosa dos ventos e serve para orientao geogrfica. O norte
verdadeiro ou, na falta da informao deste, o norte magntico, para
relacionar o terreno na orientao geogrfica;
e) Indicativo de acidente geogrfico (rio, lago, mar etc.) e revesti-
mento florstico (rvore e seu porte) significativos. quando houver;
f) Outros elementos significativos quando houver (alterao na
topografia original: corte, etc).
As indicaes da planta do terreno devemter a previso necess-
ria para assegurar a exatido requerida na elaborao do projeto. A
falha em alguma das informaes contidas na planta pode provocar
incorreo no raciocnio do partido arquitetnico e problemas na
execuo da obra. Por isso mesmo, vale sempre a pena conferir as
informaes, mesmo que seja de modo expedito, no local do terreno,
para certificar-se da correo dos dados. Quando essa conferncia
nao possvel, necessrio mandar fazer levantamento topogrfico
preciso.
85
, .~-
,
I
I .
I
. 1
Qs grficos 1, 2 e 3, apresentados nas pginas 82, 83 e86, so trs
~e){emplos de plantas de terreno. Nessas plantas esto indicadas todas
as informaes indispe[lsveis do terreno~N. . ogrfico 1, est desenha-
- da a planta do lote de nmero 4, destinado ao uso residencial, de lo-
teamento localizado no Municpio de Lauro de Freitas, ni! Bahia. um
lote de forma retangular cujos lados, dois a dois, tm medidas iguais,
dois de 13. 50me dois de 32. 00me possui a rea de 432. 00m
2
. As duas
ruas limtrofes do lote esto situadas nos dois lados menores e uma se
prolonga, em parte, num dos lados maiores, onde forma uma praa.
um terreno plano cuja~superfcie est indicada como situada na cota
7. 20m. Limita-se nos lados maici, , '!s com lotes vizinhos. O norte est
indicado no grfico e o desenho da planta est na escala de 1 :200. Ao
lado do desenho da planta, n. a parte alta do grfico, est tambm de-
senhada, guisa de esclarecimento, uma planta de localizao do lote
e seu entorno, emescala menor, ade1 :2000, com a finalidade de mos-
trar um acidente geogrfico importante e prximo ao terreno, numa
dstncia dele em torno de 150. 00m: o mar. A planta de localizao
foi feita para mostrar essa proximidade que no est contida na planta
de situao. .
No grfico 2, est desenhada a planta do lote destinado implan-
tao do edifcio da igreja. umlote de forma trapezidal, de esquina,
ruas emdois de seus lados; os comprimentos 'sao de 40. 00m, de lado
menor e 50. 00m, de lado maior, tendo uma rea de 2. 000m
2
. umter-
reno plano, situado todo na cota de 22. 00m, o norte est indicado eo
desenho da planta est na escala de 1 :500.
No grfico 3 est desenhada a planta do lote B de um loteamento
X, localizado niJ :'cidade do Salvador, tendo forma retangular, com as
dimenses dos lados maiores, o de frente para a rua e o de fundo,
medindo cada um 100. 00m de largura; os lados laterais medem cada
um, de frente a fundo, 80. 00mde comprimento. A rea de 8. 000, 00m
2
.
O lote d para uma rua Delta, num dos lados de maior dimenso do
retngulo, a denominada testada do lote. A rua existente tem7. 00mde
largura e 2. 00m de largura de passeio, umemcada lado da rua. O lote
limita-se nos outros lados com os lotes laterais vizinhos, lotes A e C e,
no fundo, com o lote D. umterreno com uma suave inclinao, em
torno de 6, 25% de declive no sentido da frente para o fundo, com uma
diferena de nvel nessa direo de 6. 00m, da cota 11. 00m, aproxima.
damente, at a cota 5. 00m. Os pontos cotados de nvel nos cantos do
lote do essa diferena com exatido. As curvas de nvel indicam os
nveis do terreno de metro a metro. A indicao do norte mostra o
ngulo "de inclinao horizontal do lote com rel~o a este ponto e,
por decorrncia dele, indica os demais pontos cardeais que servem
para as anlises sobre a insolao e os efeitos dos ventos dominantes,
que sero feitas nos passos dez e onze adiante. No h registro de
"
LOTE C
X"
S l
o 10 20 ;0,0 40 SO (;0",
=---"I:._=:r- -7-"-,-.,
ESCALA GRFICA
ESCALA 1,1.000
PA$S o v 200
"
PASSE 10
LOTE o
'O 00 RUA DELTA L~700'"
'"
o
GRAFICO J
TERRENO PARA A ESCOLA
PlANTA DO LOTE B DA RUA DELTA, QUADRA H. 00 LOTEAMENTO X, SALVADOR - 8A.
LO'rE A 7
87
,
'; r
nenhum acidente geogrfico e floristico significativos no terreno ou
em seu entorno.
A localizao do terreno na cidade e o objetivo para o qual ele vai
ser usado permitiro coletar as informaes sobre a legislao per-
tinente em vigor. A planta do grfico 3 est desenhada na escala de
1:1000, conforme a planta do loteamento.
88
6.4 - CARACTERSTICAS DO TERRENO
OITAVO PASSO
6.4.1 - Forma e dimenso
A forma e a dimenso do terreno escolhido so duas variveis
importantes a serem levadas em considerao na elaborao do par-
tido. Observe-as com atEno e analise o quanto de influncia nas
idias do partido essas variveis podero exercer. O projetista C;eve
estar preparado para perceber o grau de influncia dessas var;veis e
saber us-lo adequadamente e de modo criativo nas decises do
projeto.
Observe que a influncia dessas variveis, tomada no sentido
genrico, tanto pode ser de natureza condicionante ou restritiva sobre
as idias do partido, especialmente no que se refere forma planim-
trica da disposio do edificio, posto que essa disposio deve estar
contida na forma do terreno, quanto pode deixar de influir sem ter
importncia nenhuma nessas decises de projeto.
O projetista lida freqentemente com lotes de terreno em lotea-
mentos regulares, que so os terrenos mais usuais no solo urbano
para fins de edificao arquitetnica, sendo a forma retangular a pre-
dominante da maioria dos lotes, embora essa no seja a nica forma
encontrada. Num terreno de forma retangular medindo 6,00m de lar-
gura por 40,OOmde comprimento e 240,OOm2de rea - terreno com-
prido e estreito -, onde a construo deve ocupar pele menos metade
da rea do terreno, a forma de ocupao de terreno pelo edifcio tende
a ser tambm retangular, alongando-se e seguindo a forma alongada
do terreno. Esse exemplo revela que a forma de ocupao d" terreno
pelo edifcio est restrita, condicionada forma do terreno. Essainflu-
ncia restritiva e condicionante tanto mais forte quanto maior for a
relao entre as dimenses do projeto e as do'Terreno, isto , quanto
maiores forem as medidas do pr-dimer.sionamento e menor for a rea
do terreno.
O grfico 4, pgina 90, mostra o desenho de um trecho de
ocupao urbana de um bairro da cidade de Salvador, extraido de
uma de suas plantas, no qual se pode perceber as rela,esde influn-
89
GRFICO 4
TRECHO UABANIZAOO DA CIDADE DE SALVADOR
REI.:'::O E,",'1E :. F<~"\14 [ .'lS DWENS6E" DOTERRENa
E A F0RM4 E AS ;;1~~ENs3s D SJ A OCUPA;\O.
ESCALA 1:20CQ
L~GENDA
L.IMITE E FOR"'''
DO TERRINO
L''''IT[ E FOf'M"
DE OCUPA"io DO
TERI1INO PELO B ; Z
E O(f'CIO
!
I
I
cia da forma do terreno na forma de sua ocupao. Nos lotes retangu-
lares alongados de frente a fundo, as edificaes acompanham, com
suas formas, asformas doterreno. Nos lotes que notmessascaracters-
ticas formais ou lotes deesquina, emqueasformas, mesmo retangulares,
so alongadas no sentido da rua, aocupao se modifica com formas
diferentes das encontradas nos primeiros. Issomostra que, nestes ltimos,
as alternativas de ocupao so maiores eoferecem ao pr01etistainme-
ras outras possibilidades de deciso de formas de ocupao do terreno.
Quando a dimenso do lote duas ou mais vezes a da rea de
construo do pr-dimensionamento, quer dizer, quando h rea sufi-
ciente para distribuir-se a construo sobre o terreno, sem restries
ou condicionantes de forma e dimenses, aocupao do terreno pelo
edifcio passa a ter uma situao descompromissada dessas variveis
e elas no exercem influncia significativa na forma planimtrica,
viso bidimens"ionl do edificio, deixando liberdade para o projetista
dispor dessas variveis do modo que julgar conveniente. As decises
formais do projeto ficam para ser tomadas na etapa de sintese, con-
seqentemente.
Entre esses dois exemplos dados, de situaes extremas, entre-
tanto, h uma infinidade de relaes de influncias que se constituem
"em parmetros para as idias do partido que obrigam o projetista a
lev-Ias em considerao.
H outras tantas formas geomtricas de lotes encontradas nos
loteamentos, como, ado trapzio, ado tringulo, a do quadrado, ade
lotes com um ou mais lados em forma curva formando trechos em
arcos e crculo, geralmente acompanhando acurvatura da rua. Nestes
lotes a influncia mais evidente da forma do lote a de, no trapzio,
gerar uma forma trapezidal de ocupao do edifcio no terreno ou de,
no tringulo, gerar a forma triangular e, no quadrado, a forma qua-
drangular etc. Oprojetista deve ajuizar, emcada caso, aconvenincia
ou no do ajuste formal da ocupao do edificio, tendo emvista essas
duas variveis para obter o objetivo formal perseguido da melhor
maneira possivel.
Noutras circunstncias, a influncia dessas variveis do terreno
pode ser exercida no sentido altimtrico. Quando num lote de terreno,
como o do exemplo citado anteriormente, de 240.00m2 de rea, vai-se
projetar umedifcio cujo pr-dimensionamento de 480.00m2 de rea
de construo e cuja ocupao mxima do terreno s pode ser de
metade da rea do lote, o projeto naturalmente induzido a uma solu-
o vertical, de quatro pavimentos, com 120.00m2 de rea em cada
um. Nesse caso existe uma influncia restritiva para asoluo arquite-
tnica e h apenas umtipo de soluo volumtrica do edifcio, decor-
rente das variveis dimensionais do terreno e do pr-dimensionamento
do edifcio. Oprojetista j conta com esta deciso de projeto antes de
91
I
alcanar a etapa de sntese, onde vai tomar as decises de partido
arqutetnico. A regra j est estabelecida previamente na etapa de
conceito.
A anlise das influncias de forma e dimenses do lote 4 da planta
apresentada no grfico 1 revela que, sendo umterreno de forma retan-
gular alongada, cujos lados maiores so, aproximadamente, duas
vezes e meia mais compridos do que os lados menores, com certeza
haver uma certa dose de influncia na forma de ocupao do lote de
modo que ela venha a ser tambm alongada no mesmo sentido do
lote. As dimenses podem, tambm, induzir a uma ocupao vertical
do edifcio.
A anlise do lote B, do grfico 2, indica, pela forma retangular que
possui, prxima do quadrado, no exercer influncia marcante quanto
sua ocupao, psto que esta tanto pode ser de forma retangular
alongada no sentido da rua. como no sentido oposto, quanto de forma
quadrada ou outra qualquer forma geomtrica ou no. Isso significa
dizer que a forma desse lote deixa de exercer influncia com tanta
intensidade quanto aforma do anterior, dando maior liberdade ao pro-
jetista de tomar deciso de projeto, quer emrelao forma de ocupa-
o do lote, quer em relao forma do edificio. As dimenses do
lote, pela magnitude que tm, permitem antever tambm influncia de
pouca monta sobre as idias do partido. se este for ocupar, no mxi-
mo, metade da rea do terreno.
O importante da anlise da forma e das dimenses do terreno
perceber o grau de influncia dessas variveis sobre as decises do
projeto que sero tomadas na etapa seguinte, da sntese criativa.
Exercicios teis quanto s relaes de forma e dimenso:
1 - Admitindo o tema da casa de veraneio, seu programa e seu
pr-dimensionamento. especule sobre as formas de ocupao do edif-
cio dessa casa num terreno de 5.00mde frente para a rua e 40.00mde
frente a fundo, sendo permitida ataxa de 50%para aocupao mxima.
2 - Tome um tema arquitetnico com programa e pr-dimensio-
namento e especule que alternativas de forma de ocupao podem
ocorrer nos terrenos vazios do grfico 4, pgina 90.
3 - Tome um tema arquitetnico com programa e pr-dimensio-
namento e especule que alternativas de forma de ocupao pod""m
ocorrer num terreno de 15.00m x 30.00m sendo a testada do lo!e no
lado de maior dimenso.
92
i
I
I
~
NONO PASSO
6.4.2 - Conformao do relevo
Cada terreno tem determi"adas caractersticas fsicas que decor-
rem da conformao do relevo. Por definio o relevo o conjunto de
t~dos os acidentes que do a forma ao solo, a montanha, o vale, a pia-
nlcie, a depresso etc. O projetista deve observar essa conformao
analis-Ia e especular que influncia ela poder exercer na solu~
arquitetnca. Haver sempre no planejamento arquitetnico uma rela-
o muito ntima entre a conformao do terreno e a idia arquitet-
nica do edifcio. O projetista deve captar o grau de influncia dessa
varivel fsica e saber us-Ia adequadamente e de modo criativo nas
decises de projeto.
Numa viso geral, percebe-se que a influncia dessa varivel do
relevo, tanto pode ser exercida emgrau elevado, condicionante, impo-
sitiva forma de ocupao do terreno, sempermitir outras alternativas
vveis, quanto pode deixar de influir, semexercer importncia nenhu-
ma. Isso depende basicamente da conformao do relevo e de sua
combinao com as demais variveis do projeto.
Para efeito de anlise do relevo ou, dizendo em outras palavras,
das caractersticas topogrficas, os terrenos podem ser classificados
em dois tipos: o plano e o inclinado. Oterreno plano aquele emque
toda a sua superfcie est contida num mesmo plano horzontal, o
que est na mesma cota de nvel. O terreno inclinado, diferentemente
do primeiro, o que no est contido num plano horizontal, quer
dizer, em sua superfcie h diferentes nveis. Tanto pode estar contida
num plano inclinad::>, como estar numa conformao totlmente irre-
gular. semestar contida emplanos ge::>mtricosregulares. Almd'3ssa
caracterstica planaltimtcica do relevo do lerreno, a sua inclinao
tanto pode ser voltada pa~aa frente em aclive, considerando-se a fren-
te do lote como a referncia de observao, quanto pode ser voaada
paraJraz, e em diversas direes. Acresce a essas duas facEtas da
caracterstica do relevo, de plano ou inclinado e do modo da inclina-
o, outra relativa ao grau da inclinao: a inclinao pode ser suave,
contendo um pequeno percentu21 ou de elevada inclinao. Todas
essas consideraes relativas caracterstica do reievo 'do terreno
93
significa dizer que enorme a variedade de conformaes. Cada ter-
reno' se apresenta de um modo caracterstico e exig: do projetista
fazer a devida avaliao, para posicionar-se com relaao a ele: obser-
vando a conformao do relevo, percebendo as diret,rizes fisi~as que o
relevo revela e que grau de influncia a conformaao podera exercer
sobre as idias do partido arquitetnico; analisando que alternatIvas
de OCIJ paodo terreno existem e podem ser usadas partindo dessas
diretrizes; verificando que opes dentre as alternativas anallsadas
so as convenientes ao uso do tema arquitetnico e seu programa.
Essas avaliaes so o exercicio de compreenso da varivel da con-
formao do relevo, que servir de referncia para as decises d: pro-
jeto a serem tomadas posteriormente na segunda etapa da adoa0 do
partido arquitetnico. -
No mbito geral das consideraes sobre a conformaao do rele-
vo, em principio h, pelo menos, duas maneiras de agir quando se
raciocina a implantao do edifcio no terreno. Umaade acomodar a
disposio do edificio conformao do rel.evo,_derespeItar o terreno
na sua conformao original. Neste caso a mfluencla do relevo, plano
ou inclinado se manifesta no grau mais elevado.
A outra' ao contrrio da primeira, a de acomodar o terreno
forma imaai'nada de disposio do edifcio. Neste caso, a influncia do
relevo se ;;'anifesta emgrau reduzido. Tanto numcaso como noutro a
deciso est vinculada a um elenco de outras variveis do projeto,
como a do nmero de pavimentos, a da disposio dos elementos do
programa por pavimento, da forma do edifcio,. dos acesso~, ~o custo,
etc. Entre essas duas maneiras extremas de agir comrelaao a confor-
mao do relevo e sua ocupao pelo edifcio, h uma variedade
incontvel de situaes intermedirias, de conciliao entre uma_e
outra maneiras. evidente que, emprincipio, no existe uma situaao
que seja melhor que a outra. Cada caso analisad? um caso di!er~nte
e requer umjuizo que depende do grau de I,nfluen:la e Importancla a
atribuir a cada varivel do projeto vinculada a declsao que diZ respeIto
conformao do relevo. Isso significa dizer que, seja o terre.no plano
ou inclinado, tenha a direo e a inclinao que tiver, havera sempre
uma ou vrias maneiras de adaptar a ocupao do edificio ao terreno
ou o inverso. Neste ltimo caso, alterando o relevo convenientemente
para esse fim. Cabe ao projetista optar pel~alt?rnativa que n:elho~
atenta s condicionantes do projeto. A questao baslca dessa anailse e
a de procurar saber que grau de influncia exercer a conformao do
relevo do terreno escolhido nas decises de projeto e de que mooo.
evidente que o grau de influncia exercida pelo terr~no inclina-
do maior dei que o do terreno plano. O terreno plano da liberdade
para us-lo do mode julgado mais conveniente, mais flexvel e isso
lorna, para vrios tipos de partido arquitetnico, sua influncia nula.
94
.. <I....i..
Neste caso, muitas das decises de projeto independero das conside-
raes dessa influncia. O terreno inclinado, pelo contrrio, exercer
um certo grau de influncia sobre vrias decises de projeto, princi-
palmente a que se refere disposio dos setores e elementos do pro-
grama no terreno, tanto no plano horizontal quanto no plano vertical'
essa influncia tambm varia emfuno do grau de inclinao do ter:
reno e do modo como ocorre essa inclinao. Haver casos emque o
terreno nclinado poder ser aplainado para torn-lo sem influncia
com relao varivel da conformao do relevo, assim como o terre-
no plano poder ser alterado para implantarem-se pavimentos do edif-
cio abaixo ou acima do nivel original do terreno, com cortes e aterros
feitos nele. Essas alteraes no relevo do terreno constituem decises
de projeto tomadas, preliminarmente, ao se levar .emconsiderao
outras variveis de projeto que passam a ter maior importncia que
esta, na acomodao entre a forma do edifcio e a forma do terreno.
O grau de influncia da varivel da conformao do relevo cresce
na proporo em que a relao entre o pr-dimensionamento e a
dimenso do terreno diminui.
Com a planta do terreno escolhido, que o instrumento informa-
tivo da conformao do relevo, almda visita local, possivel elaborar
essa avaliao. No caso do terreno inclinada, cabe elaborar cortes ou
perfis dele para aclarar melhor a percepo da sua declividade.
Vejamos agora, guisa de exercicio, a avaliao da influncia da
varivel da conformao do relevo, considerando os terrenos cujas
plantas esto apresentadas nos grficos nmeros 1, 2 e 3, das pginas
82, 83 e 86. O primeiro, destinado ao uso residencial e o segundo, ao
uso institucional, so planos, possuem, portanto, conformao aue
permite facilidade de ocupao sem restries topogrficas; d liber-
dade para us.lo do modo mais conveniente possvel. Isso significa
dizer que a influncia do relevo desses terrenos pouco compromisso
tem ou exerce de antemo para as idias de partido arquitetnico dos
respectivos projetos. O terreno do grfico 3, destinado ao projeto da
escola do primeiro grau, diferentemente dos outros dois anteriores
inclinado, em declive, da frente para o fundo, apresentando uma dife-
rena de nivel de seis metros entre esses dois lados. Mas essa inclina-
o suave, no muito acentuada, de 7.5%na mdia. A inclinao no
est contida num plano inclinado; as curvas de nvel registradas na
planta, esto ligeiramente onduladas, atravessando o terreno emsen-
tido diagonal norte-sul e com espaamentos variados entre elas for-
mando inclinaes diferenciadas. com parte mais plana da rua at o
melo-do terreno e mais inclinada do meio at o fundo do terreno. A
acomodao do edifcio ao terreno certamente levar essas caracteris-
ticas em considerao. A conformao do relevo desse terreno, com
. caractersticas de declive e emdiagonal certamente exercer umcerto
95
I
grau de influncia sobre as idias do partido arquitetnico, porq~e
cria compromissos fsicos-espaciais originariamente, que refletlr~o
nas decises do projeto, no s com relao hiptes.e de adaptaao
do edifcio ao relevo do terreno como nas outras hlpoteses alternatI-
vas de acomodao do relevo ao edifcio. .
Essencialmente, a conformao do relevo responde pela combina-
o dos interesses comuns entre a distribuio espacial, nos plano.~'
horizontal e vertical dos setores e elementos do programa arqulteto-
foico, na forma do edifcio, no nmero de pavimentos, no custo da obra
e nas c;l.racteristicas topogrficas.
Exerccios teis sobre a conformao do relevo:
1- Tomar plantas de terrenos diversos e analisar a contormao
do relevo de cada um, tendo emvista. seu aproveitamento para temas
arquitetnicos.
2- Observe os modos de acomodao de edifcios comterrenos,
analisando projetos arquitetnicos.
3 - Analise as acomodaes e disposies planialtimtricas de
edifcios conhecidos sobre os terrenos onde foram implantados, ten-
tando compreender as razes.
95
DCIMO PASSO
. 6.4.3 - Orientao quanto ao sol
Examine a influncia que o sol poder exercer no edifcio a ser
projetado para ajuizar o modo de orient-lo no terreno escolhido e
obter o melhor proveito possvel das condies naturais de conforto
ambiental.
A influncia do sol. decorre basicamente do excesso de ilumina-
mento (a luminosidade natural no ambiente arquitetnico) eda insola-
o (o efeito calorfico sobre as paredes e o interior do edificio) que
causam desconforto.
Numa regio tropical como a que nos encontramos, no Brasil,
... e.specialmente no nordeste brasileiro e especificamente falando na
cidade de Salvador, Bahia, na qual a incidncia de dias ensolarados
elevada, at mesmo no inverno, (cuja mdia anual de 7,3 horas de
sol por dia e as temperaturas mximas anuais vo de 17.7C, a33.8C,
tendo a mdia em25C) a preocupao maior de atenuar ou reduzir
ao mximo o desconforto provocado pelo excesso de iluminamento
natural e da insolao do edifcio. Essa influncia difere das de outras
regies da Terra, como as.de latitudes maiores, de clima frio, onde os
.efeitos do sol so de influncia muitas vezes branda, pequena, sendo
nesses lugares aproveitados integralmente o iluminamento natural ea
insolao para melhorar as condies climticas adversas, do frio e da
pouca iluminao.
_ O iluminamento natural no edifcio tem relao com sua orienta-
ao quanto ao sol e disposio interna dos elementos do programa.
Esse iluminamento pode ser controlado tambm pelas envasaduras
feitas no edificio (portas, janelas, basculantes, aberturas diversas e
elementos arquitetnicos feitos com essa finalidade).
. O controle do excesso de insolao depende, basicamente, da
orientao do terreno escolhido, da disposio do edifcio e de seus
elementos constitutivos quanto ao sol. Essecontrole requer uma an-
lise da inf.iuncia do sol para obter as referncias de orientao a
serem adotadas na disposio do edifcio no terreno e, conseqente-
mente, na dos setores e dos elementos do programa no edificio.
Um modo simplificado de obter a influncia do sol no terreno
97
escolhido e us-Ia nas idias relacionadas com a adoo do partido
arquitetnico observar o movimento aparente do sol na abbada
celeste. O sol vai do leste, quando aparece pela manh, at o oeste,
quando desaparece tarde. fcil perceber que a insolao acentua-
se proporo que o dia avana, sendo mais incidente tarde, no
poente, do que pela manh, no nascente. A temperatura mxima diria
se situa entre as 14e 15horas e a mnima, pouco antes do sol nascer.
Olado do terreno voltado para opoente, portanto, representa aorienta-
o mais desfavorvel do que a do lado voltado para o nascente, com
relao ' insolao. Essa observao pode ser feita com base na
orientao relativa aos pontos cardeais que podem ser deduzidos da
indicao do norte. registrada na planta do terreno ou da observaco
do movimento do sol no terreno. Deduz-se da, ser conveniente orien-
tar os setores do programa, aqueles que requeiram prioridade naorien-
tao, para o lado do nascente e assim estar-se- atenuando o efeito
desconfortante da insolao.
Para obter-se o modo exato como a insolao ocorrer no edificio
e avaliar com preciso o grau de influncia do sol sobre ele e sobre o
terreno escolhido, o procedimento outro, diferente do citado acima.
Utilizando-se a carta solar, um diagrama elaborado para registrar o
movimento aparente do sol observado da Terra, do lugar onde sesitua
o terreno, conhecidas a latitude do lugar (o ngulo formado pela ver-
tical do lugar como plano do equador) e a amplitude da eclitica (aobli-
qidade mxima que o plano do equador faz como equador celeste)
possvel elaborar-se a carta solar, que tambm denominada de dia.
grama de insolao ou de insolejamento, utilizando-se para isso um
processo grfico mediante conhecimentos de geometria descritiva,
com preciso suficiente nas informaes para o uso desejado. Esse
um procedimento tcnico, preciso, correto, que permite determinar a
orientao do edificio no terreno e obte( condies ambientais favo-
rveis.
O diagrama do insolejamento registra, emcurvas traadas nele, as
horas de exposis:o solar emcada fachada do edifcio e no interior dos
ambientes arquitetnicos, emqualquer orientao que esteja oterreno
e o edifcio. Obtm-se essas informaes no diagrama, pois ele indica
a direo do raio solar, os ngulos horizontais e verticais que os raios
formam com o terreno durante o dia e durante as estaes do ano. O
projetista dotado desse conhecimento estar habilitado a decidir de
que modo pode dispor, no terreno, das orientaes que melhor con-
vm para evitar ou atenuar os efeitos desconfortantes do excesso de
insolao.
No grfico 5, o diagrama do insolejamento, pgina 100, esto
representadas as curvas do movimento aparente do sol observado na
cidade de Salvador, na Bahia, lugar situado a 13
0
de latitude sul do
98
equador da Terra. Essas curvas so as referncias pelas quais se
filodem deduzir as inclinaes horizontais do sol, nas estaes do ano
(outono, inverno, primavera e vero) e o sentido de direo do raio
solar incidente na fachada do edifcio, nas diversas horas do dia, para
um terreno situado nesta cidade. Neste mesmo diagrama esto regis-
tradas as inclinaes verticais do sol. As curvas so feitas tomando
como referncias as poses da Terra nos equincios e nos solst-
cios. Os equincios so os pontos da rbita da Terra emque se regis-
tra a durao igual do dia e da noite, ocorridos no dia 21 de maro
quando, no hemisfrio terrestre emque Salvador est, o equincio do
outono e, no dia 23 de setembro, por sua vez, o equincio da prima-
vera. Os solstlcios so os pontos da rbita da terra emque se registra
a maior diferena de durao entre o dia e a noite. Eles tm lugar no
dia 21 de junho, significando o solsticio de inverno e no dia 21 de
dezembro, significando o solsticio de vero. No diagrama do insoleja-
mento esto indicados os quadrantes (nordeste, sudeste, sudoeste e
noroeste). as quatro partes do circulo divididas pelos eixos dos pontos
cardeais e a diviso da circunferncia emgraus. Nas curvas represen-
tativas do movimento aparente do sol esto marcados os pontos indi-
cativos das horas do dia, da direita' para a esquerda, comeando na
hora emque o sol aparece pela manh, no leste, e terminando na hora
da tarde em que desaparece no oeste.
O grfico usado da seguinte maneira: para se saber qual a dire-
o que o raio solar incide e o ngulo horizontal do sol em determi-
nada ocasio, s 9 horas, no inverno; liga-se o ponto marcado com o
nmero 9H na curva do solstcio de inverno at o centro do diagrama
indicado pela letra C e obtm-se a direo do raio no sentido 9H-G.
Isso corresponde viso de umobservador colocado emC. O ngulo
horizontal obtido medindo-se a angulao formada pelas duas linhas
que, partindo do vrtice C, formam as retas C-norte e C-9H. Esse
ngulo mede 500 nordeste, na circunferncia, contados a partir do
norte no sentido do movimento de ponteiros de relgio. Essa maneira
de proceder serve para obter qualquer uma das direes do raio solar
e da inclinao horizontal. Obtm-se a direo do raio solar, tomando-
se sempre o sentido da reta que parte do ponto indicativo da hora na
curva do solstcio (inverno ou vero) ou dos equincios (outono ou
primavera), indo at o centro C do diagrama, o ponto do observador.
Exercitando esse procedimento para todo o dia no solstcio de inver-
no, percebe-se que a direo do raio solar varia desde os 56
0
nordeste,
quando o sol nasce s 6 horas e 23 minutos da manh indo a 00 coin-
cidente com a direo norte-sul at 65
0
noroeste quan'do se pe: s 17
horas e 37 minutos. Para os equincios (outono e primavera) a direo
do raio comea, pela manh, s 6 horas a 90
0
, coincidindo com o eixo
leste-oeste, passando ao meio-dia com Do, coincidindo com o eixo
99
'-
GRAFI CO ~
CARTA SOLAR ! OIt.GRAMA OE INSOLEJ AMENTO)
LNDIGA O MOVI MEI .TO '"'PARENTE 00 SOL OflSERVl:DO DA C'DA,DE DE SALVADOR
COM OS NGULOS tlORLZCW~AL I ; ERTI CAL NAS HORt,S 00 DI A E NAS ESTI I ES DOA.NO,
norte-sul, mudando de direo at coincidir com o sentido oeste-leste,
s 18 horas. No solstcio de vero, a direo do raio solar varia de 650
sudeste, quando nasce s 5 horas e 37 minutos, chegando ao meio-dia
a O" sul, coincidindo com o eixo sul-norte, inclinando-se at chegar
aos 65 sudoeste, s 18 horas e 23 minutos. Emresumo, a incidncia
horizontal do sol sobre Salvador tem variaes de direo entre os
solstcios de vero e de inverno, as posies extremas, e os equin-
cios. No inverno, ele incide pela manh no sentido nordeste e tarde
no noroeste. Durante os equincios, ele incide pela manh de leste a
nordeste e tarde, de nordeste a oeste. No solsticio de vero, ele
incide de sudeste pela manh e'sudoeste pela tarde.
Para aplicao desse conhecimento, num edifcio cuja fachada
esteja voltada para leste, por exemplo, procede--se assim: coloca-se a
linha da fachada coincidindo com a linha norte-sul passando por C, o
ponto do observador. Essa fachada recebe insolao durante o ano
inteiro pela manh. A fachada voltada para oeste recebe insolao o
ano inteiro pela tarde. A fachada voltada para o norte recebe Insolao
no inverno, no outono e na primavera durante o dia todo e no recebe
no vero. E a fachada voltada para o sul recebe insolao durante o
vero o dia inteiro e no recebe nas outras estaes do ano. A fachada
do 'edifcio voltada para o nordeste, para tomar outro exemplo, a que
no diagrama passa pelos 50sudeste - ponto C-50 noroeste,
recebe insolao no inverno desde a hora em que o sol nasce at s
15 horas. Nos equincios, recebe-a desde que o sol nasce at s 13
horas e no vero, desde que o sol nasce at s 11 horas. Para se obter
qualquer outra inclinao, basta colocar o diagrama na angulao
correta com relao ao norte da planta, fazendo a linha da fachada
passar tambm pelo ponto C, o do observador. Os trechos das curvas
de movimento aparente do sol que ficam frente da fachada, so as
partes em que ocorre a insolao. Sabendo-se fazer essa observao,
do quanto incide o sol sobre o edificio emcada uma de suas fachadas,
pode-se optar por qual maneira se deva orient-Ias para resolver o
problema da insolao.
Alm do que j foi dito com relao ao aumento da insolao com
o decorrer do' dia, ela varia tambm com relao s estaes do ano,
sendo branda no inverno, quando a temperatura alcana os indices
mais baixos do ano, 16 centgrados de mnima e acentuada no vero,
quando a temperatura mais elevada, chegando ao mximo de 32
0
centgrados. Desse modo, a poca de mais excesso de insolao a
do vero, l:l"emrazo disso deve-se evitar direcionar asfachadas do edi-
fcio, pelo menos, aquelas que tenham muitas envasaduras easde maior
dimenso, para os quadrantes onde a insolao dessa poca incida.
Os ngulos verticais que o sol faz no seu percurso diurno esto
indicados no diagrama de nsolao, nas curvas do movimento apa-
NORDESTE
S:J O;::STE
Il' I'
20
200
'0
0
SUl
L~
SOLSTCIO OE INVERNO
A. 21 DE J UNlolO
'0
NO RT E
0
EQU N6cIOS {OUTON PRII VERA
70':0' n~oO" 70',::r ~.7~)O}
12 I(J H
10210[. . ''I >CO (2)Df 51 7f,"'1 "O
00'
,~
" 0
.,.
726~O'
"
W
,," 11': H
"...
,0"
SOLSTCIO DE VERO
'"
" ""
OE'.EMf\RO
4y>IO'
""
OBSERVACO: ODIAGRAMA DEINSOLEJ AMENTO E' COM"OSTO DE UM CIRCULO COo,!CS PO~'TCS
CAROEAIS! NORTE, SUL, LE STE E DESTE'- OS QUflDR li NTES (N OI<OESTE, SUOESTE. SuDC'ESTE
r NOROESTEl, A DIVISA0 DA CIRCUNFERNCIA EM ~O. E AS CuRVAS DO >,IC'VIMEsT"
"PARENTE DO SOL CO~ SUA POSICO A CADA HORA, NOS EO\J INCIOS (OUTO~'O E P'<HU,-
\ERA) E NOS SOLSTICIOS (INVERNO E VERO), A DIREO DO Rt.IO SOUlR E' oeTIDA
."A LINHA FEITA PARTINDO DO PONTO DA CURVA E INDO ATE' O PONTO C, DO OBSER~ADOR.
O ANGULO HORIZONTAL OBT.4-SE, NA CIRCUNFERNCIA, NO QUAORAN":'E O~DE ES":'A A
~INHA DA OIREO 00 RAIO SOLAR. O ANGULO VERTICAL EsTA INDICADO E'" GRAUS
E MINUTOS ACIMA 00 PONTO MARCADO NA CURVA DA HORA CORRESPOr-.:OE:-I~E.
, o
suDOESTE
NOROESTE
OESTE 9
101
rente do sol, emgraus e minutos, emcada hora. Ao meio-dia, o sol faz
um ngulo vertical de 5330' no inverno, de 7700', no outono e na
primavera, e de 7940', no vero. Esses so os ngulos de maior inc~-
nao vertical do sol em Salvador. Com as medidas desses ngulos
pode-se estudar em cada cmodo do edificio o modo como o sol,
nessa inclinao, incide sobre as envasaduras da fachada, indo at o
interior em qualquer hora do dia e em qualquer estao do ano.
Tomemos agora os terrenos contidos nos grficos 1, 2 e 3 s
pginas 82, 83 e 86, para avaliao da influncia neles da orientao
quanto ao sol.
Primeiro: o terreno para o uso residencial, do grfico 1. Coloca-se
onorte do diagrama dainsolao namesmadireodo norte daplanta.
Da fcil perceber o caminho do sol, relacionado ao terreno. Os
lados pelos quais a direo do raio do sol incide pela manh so, o do
vizinho ao lote 5e o da rua B, nos equincios e no inverno e do lote 5,
tambm no vero. tarde, o lado vizinho do lote 3, no inverno e nos
equincios, e o lado da rua A, no vero. A percepo dessas direes
da insolao permitem aju.izar que a orientao melhor com relao
insolao a do lado que d para a rua B, porque ela incide pela
manh, por ser o melhor horrio e naspocas do ano mais brandas da
insolao. Olado voltado para o lote 5tambm bomporque, apesar
de receber insolao no vero, a incidncia do sol ocorre pela manh
tambm e nas primeiras horas do dia durante os equincios. O lado
voltado para o lote 3, ao contrrio dos outros, ruim, pois recebe inso-
lao todas as tardes do ano e, no inverno, a partir das dez horas. O
lado voltado para a rua A pssimo, pois, almde receber insolao
tarde, o ano inteiro, ela mais pr910ngada no vero, a partir das onze
horas, perodo emque a insolao mais quente.
Segundo: O terreno destinado ao uso institucional, do grfico 2,
Procedendo do mesmo modo que o do exemplo anterior, com relao
disposio do diagrama da insolao na planta do terreno, percebe-
se que as melhores orientaes do terreno so as voltadas para a
avenida Praia de Itapu, que recebe a insolao pela manh no inver-
no e um pouco tarde, diminuindo-se o seu tempo de durao nos
equincios e reduzindo-se a quase nada no vero, assimcomo as vol-
tadas para a rua Amoreiras, que recebe sol pela manh durante o ano
todo, no o recebendo tarde, a no ser de doze s treze horas no
vero. As piores orientaes neste caso so as voltadas para os lotes
vizinhos, lotes 12 e 15, que correspondem asudoeste e noroeste, onde
a insolao constante durante as tardes do ano inteiro.
Terceiro: Oterreno destinado escola do primeiro grau, do grfi-
co 3. Usando o mesmo procedimento dos exemplos anteriores, colo-
cando o norte do diagrama da insolao coincidindo com a mesma
direo do norte da planta, verifica-se que os lados do terreno volta-
102
dos para as melhores orientaes quanto insolao so: o que limita
com o lote C vizinho e o da rua Delta, pois so lados voltados para o
nordeste e sudeste; as piores orientaes so as voltadas para o lote
D, a noroeste e a do lote A vizinho, a de sudoeste.
Essas concluses com relao orientao constitum as avalia-
es das influncias que o sol exerce sobre os terrenos escolhidos e
serviro para o projetista usar nasdecises de projeto que ter deadotar
na etapa da sintese arquitetnica, pois os efeitos da insolao no edif-
cio tero influncia na adoo do partido, nos aspectos concernentes
disposio do edificio e na distribuio dos setores e dos elementos
do programa arquitetnico no terreno.
Com relao insolao no edificio, alm da orientao quanto
ao sol, para obter melhorias nas condies ambientais, principalmente
as trmicas, com o aproveitamento de agentes naturais, outras podem
ser adotadas, tais como, a seleo do tipo de cobertura, dos materiais
de revestimento das paredes, da orientao do edificio quanto aos
ventos, do aproveitamento do revestimento f1orstico existente ou da
proposta de lmplantao de tipo adequado do revestimento f1orstico
nas reas disponveis do terreno para esse fim. Podem-se criar tam-
bm diversos outros artifcios construtivos para contribuir na melhoria
do conforto, como o do uso de "brise-soleil", elemento aposto fa-
chada para atenuar a insolao, o beiral avantajado do telhado, a for-
ma do edifcio que evita muita insolao e assim por diante. O impor-
tante a salientar nessas consideraes que emqualquer caso de ela-
borao de projeto arquitetnico, devem-se aproveitar as vantagens
oferecidas pelos agentes naturais para obter o confronto desejado no
edifcio e eliminar as desvantagens desses mesmos agentes.
Exerccios teis sobre orientao quanto ao sol:
1- Analise com o diagrama da insolao as influncias do sol em
terrenos de diversas orientaes.
2 - Confira em ambientes arquitetnicos conhecidos os efeitos
da insolao no conforto interno desses ambientes.
3- Elabore graficamente a incidncia do sol no interior de alguns
ambientes arquitetnicos conhecidos (quarto, sala etc.), observada
nas diversas horas do dia e nas estaes do ano, tomando os ngulos
horizontais dos raios do sol.
4 - Analise com o diagrama da insolao as influncias do sol
sobre ambientes quando esto em orientaes diferentes.
103
I
GRAF1C.O 6
yENTOS DOMINANTES EM SALVADOR
DCIMO PRIMEIRO PASSO
6.4.4 - Orientao quanto aos ventos
OllOOJ 00 OISTlI,ro ()( Mnml'OL.OIIA
STA10 OE SALVAOOfl
1'1'11000M oesEl'lvAlo: 111 11A 1ll4t
co""[lll0. L' lESTE
SE' SUOEStE
"l S
'"
m NU '811' /lIAI JUN oM.. AlIO l_ r: orJT! ICN i ou
'"
(lIRED
L L SE SE SE SE SE SE. I ~,E I L L SE
VELOCIDA.DE
"
~
(M/SEG.)
2.7 26 28
"
2 ).1 )1
~'O:~~IY);~O
2.9
... _ ~-------
1'[1'11000Dl OItEIIV"J,o:IUJ-"~2
l'IIEOUENCIA: , 10'Y.
,
IIIUI i A811
I
I(
DISTRIBUICO ANUAL DOS VENTOS DOMINANTES
NA.S HORAS DE OBSERVAO (9H, 15 H, 21H I
DIREO, FREQUENCIA {OI:A!,.A Ol'lll: l.
VENTO PREDOMINANTE E VELOCIDADE (M/SEG.l
MES A M'fS E MDIA DO ANO .
9 HORAS
21 HORAS
15 HORAS
So vrios os componentes do clima: a atmosfera. a insolao, a
umidade atmosfrica e os ventos. exceo da insolao, j tratada
no dcimo passo da adoo do partido, o qlle temmaior significado
para o ser humano nos ambientes arquitetnicos, dentre os demais
componentes , semdvida, o vento que constitui fator primordial no
controle dos efeitos do clima para tornar confortvel a vida nesses
ambientes.
Verifique como os ventos atuam e oriente o edifcio de modo a
tirar proveito da ventilao e atenuar a insolao.
A atuao dos ventos numa regio de clima quente, como a tro-
pical, pode ser aproveitada para atenuar o excesso de insolao e
diminuir a temperatura no edifcio, usando as vantagens oferecidas
por esse agente natural. O aproveitamento da ao benfica dos ven-
tos influir nas cogitaes referentes sntese arquitetnica, especial-
mente quanto disposio do edifcio no terreno e quanto distribui-
o espacial dos setores e dos elementos do programa no edificio,
visando reduzir o calor e traz-lo para o nvel trmico desejado.
Os ventos so movimentos do ar na atmosfera e resultamde dife-
renas de temperatura e de presso atmosfrica. Na regio tropical,
eles so denominados de ventos alisios. Esses ventos sopram predo-
minantemente na direo sudeste no hemisfrio sul e se caracterizam
pela sua constncia de ventilao e velocidade. Os dados meteorol-
.gicos obtidos na observao continuada da incidncia dos ventos
durante as horas do dia e as estaes do ano, feitas por dcadas se-
guidas, permitem avaliar suas freqncias, predominncias e direes,
a ponto de estabelecer um quadro referencial de ventos, com suas
caracteristicas, para saber o grau de influncia deles no terreno esco-
lhido e us-Ia nas cogitaes da sintese arquitetnica. O grfico 6,
pgina 105, o diagrama dos ventos dominantes emSalvador, comas
indicaes de suas caractersticas bsicas.
No quadro superior do grfico, esto indicadas as direes dos
ventos dominantes por linhas retas, na orientao correspondente,
sabendo-se que o norte est para cima, na direo vertical eafreqn-
104
cia relativa indicada pelo comprimento da reta. As indicaes repre-
sentam as predominncias, ms a ms, em trs horas do dia, s 9
horas, s 15 horas e s 21 horas, podendo-se por extenso usar essas
indicaes como referncias dos turnos do dia. No quadro inferior do
grfico est indicada a direo do vento predominante, ms a ms, e a
velocidade correspondente em metros por segundo. Na ltima coluna
deste quadro, est indicado o vento predominante do ano e a veloci-
dade mdia dele.
Deste grfico 6, nota-se que as direes predominantes dos ven-
tos so, pela ordem de grandezas, a sudeste (SE), a leste (L) e a nor-
deste (NE), e elas, juntas, representam a maior parte das ocorrncias
de ventos em Salvador. Nele tambm se percebe que de outubro a
maro (primavera e vero) o vento nordeste predomina pela manh.
Neste mesmo periodo, predominam os ventos leste e sudeste, tarde
e noite. Nos meses que vo de abril a setembro, correspondentes ao
outono e ao inverno, o vento sudeste predomina totalmente, tanto pela
manh, quanto tarde e noite. Quanto velocidade, a mdia anual
dos ventos est em 2.9m/seg no periodo observado, diminuindo um
pouca essa velocidade no vero e aumentando-a umpouca, acima da
mdia, no inverno e na primavera.
A boa ventilao natural no interior do edificio serve para corrigir
o desconforto do clima e obter a reduo da temperatura a fim de
traz-Ia para a zona desejvel de conforto trmico. Portanto, a preo-
cupao do projetista com relao aos ventos a de orientar o edifcio
e seus elementos espaciais para aproveitar a ao dos ventos domi-
nantes, com aquela finalidade: a de minorar o excesso de insolao.
Como os ventos predominantes de Salvador so aqueles que sopram
nas direes sudeste, leste e nordeste, a disposio do edifcio no
terreno e a distribuio dos elementos do programa no edifcio esta-
ro influenciadas obviamente pelas direes dos ventos, quando se
quer aproveitar os agentes naturais do clima.
O importante orientar os elementos do programa arquitetnico
preferencialmente para os ventos dominantes. Orient-los para os ven-
tos dominantes obedecer influncia desse agente naturaL na con-
cepo do partido. Eles so um fator que induz a soluo arquitet-
nica, mas no determina como ela deve ser. claro que quanto maiores
forem as fachadas do edificio voltadas para as orientaes, obter-
se-o maiores vantagens dos ventos dominantes. Entretanto, isso
nem sempre possivel, porque depende de outras variveis, como,
a forma e as dimenses do terreno edo edifcio, do relevo etc. Opro-
jetista dispe porm, de flexibilidade no que tange s direes dos
ventos (as trs: SE, L e NE em Salvador) para a orientao do edif-
cio e de seus elementos espaciais. Nem sempre possivel, mesmo
com essa flexibilidade, dispor todos os elementos do programa numa
106
mesma orientao .ou mesmo nas orientaes dos ventos dominantes.
Nesses casos, cabe ao projetista estabelecer que setores tm priori-
dade sobre os outros, tendo em vista a setorizao do programa.
Quanto aos elementos do programa, as prioridades podem ser estabe-
lecidas tendo em vista a natureza das funes e aflvidades a serem
exercidas neles. As preferncias para as melhores orientaes devem
recair nos cmodos considerados de permanncia prolongada (como,
sala, quarto etc.) sobre aqueles cmodos considerados de permann-
cia eventual (como, hall, vestibulo, corredor, escada, rea de servio,
depsito, arquivo, sanitrio etc.).
importante salientar aqui que a melhor maneira de aproveitar o
efeito benfico dos ventos a que permite a ventilao atravessar o
edifcio de um lado a outro, circulando pejos ambientes arquitetni-
cos, permitindo as trocas trmicas de temperatura, abaixando-a. Signi-
fica dizer dar soluo arquitetnica que permita aentrada do ar fresco
e a sada do ar aquecido semdificuldades.
Observe, das consideraes j feitas nos passos dcimo e dcimo
primeiro, as coincidncias existentes entre as caractersticas das
orientaes quanto ao sol e aos ventos dominantes emSalvador. Elas
revejam que as melhores orientaes quanto insolao (nordeste,
leste e sudeste) coincidem com as melhores orientaes quanto aos
ventos dominantes (sudeste, leste e nordeste). Por outro lado, revelam
tambm que as piores orientaes quanto insolao (noroeste, oeste
e sudoeste) so tambm as piores quanto aos ventos. Dessas consta-
taes deduz-se que as orientaes sudeste, leste e nordeste so as
melhores com relao a estes dois agentes naturais (sol e ventos) e
so as que exercero influncias duplamente decisivas no trabalho de
sintese arquitetnica, pois para essas orientaes que se devero
voltar os elementos do p'rograma de edifcio, pelo menos, os priorit-
rios.
Tomemos agora os terrenos contidos nos grficos 1, 2 e 3 s
paginas 82, 83 e 86, para avaliao da inftuncia neles da orientao
quanto aos ventos dominantes.
Primeiro: O terreno para uso residencial do grfico 1. Nele observa-
se que as orientaes voltadas para os ventos predominantes so as
do lado vizinho 'ao lote 5 (sudeste) e a da rua B (nordeste). Ambas
tambm recebem os ventos leste inclinados de 450. Os lados, da rua A
e o vizinho ao lote 3 so as orientaes desfavorveis (sudoeste e
noroeste).
Segundo: O terreno destinado ao uso institucional do grfico 2.
Nele observa-se que as orientaes voltadas para os ventos predQ-
minantes so as do lado da rua dasAmoreiras (sudeste e leste) e a do
lado da avenida Praia de Itapu (nordeste). As desfavonlveis so as
que do para os lotes vizirohos, lotes 12 e 15 (sudoeste e noroeste).
107
i
, .
I
j
Terceiro: O terreno destinado escola do primeiro grau, do
grfico 3. Nele observa-se que as orientaes voltadas para os ventos
dominantes so as da rua Delta (sudeste) e a do lado vizinho ao lote
C (nordeste). Ambos os lados recebem ventos leste em diagonal. As
orientaes desfavorveis so as voltadas para os lotes A e O vizi-
nhos (sudoeste e noroeste).
Com relao aos ventos, alm da orientao analisada neste
dcimo primeiro passo. para obter melhoria nas condies ambien-
tais, principalmente trmicas, com o aproveitamento dos agentes
naturais, outras medidas podem ser adotadas. A forma do edificio
deve ser a que permita maior superfcie de exposio aos ventos
dominantes. O tamanho e a forma das envasaduras das fachadas,
menos exposio ao sol e assim por diante. Alm dessa, evidente
que outra alternativa pode ser usada, a do condicionamento do ar
que controla o clima interno do edificio atravs de mecanismos arti-
ficiais e mecnicos. H casos emque se opta pela orientao desfa-
vorvel para os cmodos de permanncia prolongada, quando o
entorno oferece fator de forte influncia, (o mar por exemplo) como o
da paisagem que supera as consideraes anteriores.
Exerccios teis sobre orientao quanto aos ventos:
1- Analise, com base no grfico 6 dos ventos dominantes, ter-
renos de diversas orientaes.
2 - Confira, em ambientes arquitetnicos conhecidos, o efeito
dos ventos no conforto interno.
3 - Elabore estudo de melhoria, em ambiente conhecido, da
ventilao, tendo em vista a orientao e as envasaduras.
108
....' " " -
.....:..." " .
,.,;.." " ' " .;~
DCIMO SEGUNDO PASSO
6.4.5 - Acessos
Os acessos so as passagens que permitem a entrada e a sada.
de pessoas e veiculos ao terreno e ao edificio.
importante analisar as possibilidades de acessos e as influn-
cias deles na idia do partido arquitetnico.
A influncia dos acessos ao terreno est intimamente vinculada
via ou vias de acesso existentes nos limites do terreno e dependem
do tipo de via, da quantidade, da sua extenso e disposio. O aces-
so (ou acessos) ao edificio est intimamente vinculado s possibili-
dades de disp-Io no terreno, decorrendo essa disposio da anlise
e interpretao de algumas variveis, umas de natureza fisica, como
as relativas s vias de acesso, ao relevo e disposio dos setores do
programa no terreno; eoutras variveis de natureza conceitual c.-mo
as derivadas das relaes .de funes que exigem acessos diretos
para elas, e da complexidade ou no do tema arquitetnico que de-
termina os tipos de acesso e seus niveis de importncia.
Observe o tipo ou tipos de rua onde o terreno se situa, com rela-
o ao sistema virio urbano. A classificao dos tipos de vias j foi
mencionada no sexto passo, O da escolha do terreno, pgina 75 e
seguintes. A cada tipo de via correspondem exigncias diferentes
para o acesso ao terreno. A via primria, por sua caracterstica de via
expressa de trfego no deve ser usada como acesso direto aterreno
contguo onde se vai edificar. Neste caso, requer-se projetar e cons-
truir via local para acesso ao terreno da via primria. A via secundria
pode ser usada como acesso em certos casos, sob condies e res-
tries de uso da via e da testada do lote estabelecidas na legislao
pertinente, visando ordenr e disciplinar o trfego nas vias. As vias
locais, diferentes das demais, so prprias para o acesso ao terreno
sem res-ies. A legislao urbanistica municipal que estabelece
as condies de acesso ao terreno, conforme o tipo de via onde o
terreno se situa.
O terreno pode ter uma ou mais vias de acesso. Nos loteamentos,
109
que so as formas mais freqentes de parcelamento do solo, predo-
mina a via de acesso localizada num dos lados menores do lote.
Decorre dai a influncia restrita ao planejamento do acesso ao terre-
no e ao edifcio visto que somente por este lado possivel dispor
dos acessos. Isso constitui uma condicionante do partido e dos aces-
sos ao edificio. O terreno de esquina tem duas ruas, o que aumenta
as possibilidades de acesso ao terreno e diminui as restries. Essa
situao significa dizer que o projetista dispe de duas vias de aces-
so ao terreno para ajuizar como dispor os acessos no edifcio por
uma ou por duas vias nas decises do projeto. Hsituaes emque o
terreno tem mais de duas vias de acesso ou est todo envolvido em
ruas. Nestes casos, no h restries quanto ao planejamento dos
acessos, podendo o projetista escolher as vias para acesso dentre as
existentes.
A extenso da via de acesso depende obviamente da largura do
lado do lote onde ela est situada. A extenso da via no lote pode ser
pequena ou grande e isso determina o grau maior ou menor de pos-
sibilidade ou flexibilidade na posio do acesso ao terreno.
A disposio da via de acesso conseqncia direta da forma
como ela est relacionada com o terreno. A maioria das vezes, ela
est disposta emlinha reta, outras, emcurva, emlargo, emesquina,
traduzindo formas peculiares que podem condicionar solues par-
ticulares ao caso.
O acesso ao edifcio est evidentemente influenciado pela via ou
vias de acesso ao terreno e de suas caracteristicas como as aponta-
das anteriormente. Ao projetista cabe analisar as diversas possibili-
dades existentes e decidir sobre o melhor modo d dispor o acesso
ou acessos para o caso. Outras influncias so exercidas com rela-
o aos acessos ao edificio na adoo do partido arquitetnico. Uma
delas, de natureza fisica, relacionada ao relevo do terreno. As
caracteristicas topogrficas do terreno podem, no s influenciar,
mas, tambm, induzir decisivamente na disposio do acesso ou
acessos. Outra influncia a decorrente da necessidade de sincro-
nizar as possibilidades de acesso da via com a disposio dos seto-
res do programa no terreno. Como essa disposio depende da
influncia de outras variveis fsicas e conceituais do tema (ex.:
orientao do edificio quanto ao sol e aos ventos, relao entre pr-
dimenSionamento do edifcio e dimenso do' terreno. forma do terre-
no e do edificio. funes de acesso do programa arquitetnico, etc.)
a sincronizao referida, que se materializa no planejamento arqui-
tetnico. umato de deciso, de conjugar variveis e suas influn-
cias na adoo do partido arquitetnico referente aos acessos ao
edifcio
No quarto passo da anlise das variveis de natureza conceitual,
110
o referente s relaes do programa arquitetnico, tra;ado pgina
37 e seguintes, observa-se que alguns elementos do programa tm a
seu cargo exercerem a funo de acesso. So o vestbulo, o hall de
entrada, a escada, o elevador, a rampa, etc. Estes so os elementos
que serviro para permitir o acesso ao edificio e aos,demais elemen-
tos do programa. Eles so elementos chaves nas relaes de funes
do programa e tm de ser levados em considerao nas cogitaes
sobre acessos. Emgeral, so trs os diferentes tipos de acesso no
edificio, que decorrem das relaes das funes. O acesso social, o
acesso de servio e o acesso para veiculos. Eles esto inseridos cada
um no setor correspondente e seu nmero depende da complexidade
dos setores e funes da temtica arquitetnica.
Essencialmente, os acessos respondem pela circulao de pes-
soas, veiculos e objetos no terreno e no edificio, pela combinao de
interesses comuns entre 'lias, relaoes de funes, tipos de acessos,
relevo, disposio dos setores do programa no terreno edos elemen-
tos do programa no "dificio.
Tomemos agora os terrenos contidos nos grficos 1, 2 e 3 s
pginas 82, 83 e 86, para avaliao da influncia deles nos acessos.
Primeiro: O terreno para uso residencial do grfico 1. Nele,
observa-se que h vias de acesso em dois lados; os menores, um
para a rua A, outro para a rua B e mais umtrecho para o lado cont-
guo ao lote 5, da praa. Esse lote permite flexibilidade para o proje-
tista dispor os acessos do edificio por umou mais lados do terreno.
Isso significa atender s diversas variveis envolvidas nas decises
quanto aos acessos e influncia dessa varivel nas decises do
projeto, meoos condicionante e menos restritiva.
Segundo: O terreno destinado ao uso institucional do grfico 2.
um terreoo de esquina com duas ruas e, pela extenso que elas
tm, correspondem metade do comprimento total dos lados. Neste
caso tambm os acessos podem ser dispostos emqualquer posio
nos lados da esquina. Significa dizer que a influncia exercida pelas
vias de acesso e suas dimenses pequena sobre as decises quan-
to aos acessos. A topografia plana tambm facilita.
Terceiro: O terreno destinado escola do primeiro grau, do gr-
fico 3. Sendo umterreno com penas uma rua de acesso e topografia
inclinada, evidente que h restrioes ao raciocinio de partido arqui-
tetnico, diferentemente dos demais, alm de todos os acessos
serem feitos por um lado apenas do terreno, acrescido das caracte-
rsticas 90 relevo.
Exerccios teis quanto aos acessos:
1- Admitindo o tema da casa de veraneio seu programa e seu
111
pr-dimensionamento, especule sobre a disposio dos acessos no
terreno do grfico' 1.
2 - Especule tambm sobre os acessos com relao aos temas
igreja e escola do 1~grau, nos terrenos dos grficos 2 e 3 corres-
pondentes.
3 - Tome um tema arquitetnico com as informaes bsicas
conceituais e fsicas e especule que alternativas de acesso podem ser
aventadas neste caso.
4 - Analise, a partir de edifcio conhecido, o porqu das solu-
es adotadas quanto a acessos e especule as variaes possiveis
dentro do conceito do tema e do terreno.
112
DCIMO TERCEIRO PASSO
6.5 - Relaes com o entorno
oentorno o ambiente fsico, natural ou criado, existente avolta
do terreno escolhido. O entorno tanto pode ser o conjunto de cons-
trues vizinhas, como pode ser a paisagem visvel at a linha do
horizonte ou ainda, oconjunto de edificaes do bairro onde sesitua
o terreno.
O entorno pode conter elementos capazes de influir favoravel ou
desfavoravelmente na idealizao do partido arquitetnico no terre-
no escolhido. em funo dessa influncia que se estabelecem as
relaes entre o terreno e o entorno. O projetista deve estar prepara-
do para perceber essa relao, avaliar o grau de influncia eo reflexo
dela no planejamento arquitetnico do edifcio.
A vista que se apresenta ao observar situado no terreno, que
pode ser desfrutada do interior do edifcio, um dos fatores do en-
torno a ser considerado e pode influir na disposio dos setores e
dos elementos do programa no terreno.
A Baa de Todos os Santos, na cidade de Salvador, umcenario
paisagstico deslumbrante que influi favoravelmente nas considera-
es sobre o planejamento do edifcio a ser projetado em terreno
onde se possa desfrutar dessa vista. Ela entorno to importante que
supera as consideraes de orientao quanto ao sol, visto que a
baa oriental a cidade, ficando no quadrante do poente. Essecaso
umdos exemplos da influncia marcante das relaes comO entorno.
Outro exemplo da influncia marcante do entorno a do revesti-
mento f1orstico percebido no vale ou na plancie distante. So os
acidentes geogrficos influentes do entorno: o mar, o vale, a mon-
tanha, o lago, a planicie, a floresta. o rio, etc.
As consideraes de ordem tipolgica da arquitetura existente
no bairro podem induzir o projetista a relaciona-Ias com a tipologia
do edifcio a ser projetado.
H, por outro lado, fatores relacionados com o entorno que
podem infla'r desfavoravelmente nas relaes como terreno: os edi-
fcios vizinhos, que limitam ou cerceiam a'viso do ambiente avolta e
determinam as disposies dos setores e elementos do programa de
modo a se ter de proteger intimidade das funes dentro do edif-
113
I
j
cio; o morro defronte outro fator de limitao visual; as vias pr-
ximas; a vizinhana inconveniente; as atividades desenvolvidas nas
edificaes prximas ou a poluio ambiental; todos podem ser fato-
res restritivos das relaes sobre o partido arquitetnico e o entorno.
Exerccios teis sobre as relaes com o entorno:
I
I
1- Verifique, com base nos dados da planta do terreno da casa
de veraneio, qual a relao existente esignificativa do terreno com o
entorno
2- Verifique, com base nos dados das plantas dos terrenos da
igreja e da escola do primeiro grau. quais as relaes como entorno.
3- Analise, tendo emvista alguns trechos urbanos da cidade, os
fatores favorveis e desfavorveis das relaes do entorno emterre-
no situado nesses trechos.
4- Analise as hipteses de relacionamento de edifcio conheci-
do com o entorno.
114
I .
DCIMO QUARTO PASSO
6.6 - Legislao pertinente
I nforme-se sobre as determinaes legais referentes ao terreno
escolhido e ao edifcio a ser projetado para orientar-se adequadame-
te sobre a legislao pertinente e tomar as decises de projeto, com
acerto e preciso no que concerne a esse assunto.
A legislao pertinente encontra-se na municipalidade, nos cdi-
gos de urbanismo e edificaes, na lei do plano diretor da cidade,
quando h. e na lei de loteamento. Alguns aspectos so tambm tra-
tados em legislao federal, que cria diretrizes para a legislao
municipal.
A legislao pertinente visa regulamentar a ocupao do espao
urbano e a construo dos edifcios, estabelecendo, emgeral, par-
metros mnimos de urbanismo e edificaes abaixo dos quais no
possvel a aprovao do projeto e da construo pelo rgo compe-
tente da prefeitura.
A legislao urbanstica divide a cidade emzonas caracterizadas
pelas funes aque se destinam, pelo tipo de uso do solo, pelo modo
e dimenso da ocupao deste solo coma edificao. Neste sentido,
os parmetros mais sign';ticativos so: a taxa de ocupao do edifcio
no terreno, que a relao estabelecida entre rea de projeo ver-
tical do edifcio sobre o terreno e a rea deste; o coeficiente de utili-
zao, que a relao estabelecida entre a rea de construo e a
rea do terreno; o gabarito de altura, que a cota mxima a ser
alcanada pela edificao em determinada zona da Cidade; e os
recuos frontal, lateral e de fundo a serem obedecidos pela edifica-
o em relao aos terrenos vizinhos.
A legislao referente edificao regula as condies constru-
tivas e espaciais dos ambientes do edificio. Trata das reas mnimas
dos cmodos, dos ps-direitos, das condies de insolao, de ilu-
minao e ventilao, das reas de abertura das envasaduras, dos
pavimentos,aas circulaes, escadas, rampas e elevadores, da finali-
dade da edificao, dos cmodos especiais (cozinha, sanitrios, etc t
e seus revestim"ntos, etc.
Todo processo de adoo do partido arquitetnico exige do pro-
115
jetista o conhecimento da legislao pertinente e a avaliao do grau
de influncia que ela pode exercer no projeto a ser desenvolvido. A
legislao sempre condicionante e restritiva, estabelecendo um
quadro referencial do que pode e do que no pode ser feito no ter-
reno e no edifcio. Em principio, a legislao pertinente visa estabe-
lecer, pelo menos, um padro minimo de condies ambientais ne-
cessrio para obter qualidade de vida satisfatria.
Tomemos como exemplo o lote para uso residencial do grfico 1,
pgina 82. Os parmetros principais da legislao so a taxa de
ocupao de 50%, os recuos de 4.00m na rua, e 1.50m de cada lado,
podendo encostar num dos lados vizinhos com 3.00m de recuo do
outro lado, e o gabarito mximo de. dois pavimentos.
O exemplo do terreno do grfico 2, pgina 83, destinado igre-
ja, tambm obedece aos mesmos parmetros vigentes para o terreno
do grtico 1.
No exemplo do terreno destinado escola do 1~grau, do grfico
3, pgina 86,' o gabarito liberado sem restries e no existe a
condiclOn3nte de recuar 3.00m de um lado quando encosta a edifica-
o no limite do outro lado.
Observadas essas condies urbanstica.s concernentes a cada
lote percebe-se que, apesar de semelhantes. os parmetros do lote
do grfico 3 permitem maior liberdade de ocupao que pode tradu-
zir-se numa influncia bem menor sobre as idias de partido arquite-
tnico que as duas anteriores. Mesmo assim, haver uma infinidade
de alternativas de partido a serem especuladas em cada caso.
Quanto legislao referente edificao propriamente dita, ela
tem parmeiros gerais atinentes a todas as edificaes e especial-
mente outros tantos para o edifcio residencial, o institucional, o
escolar etc.. que regulam cada um desses temas arquitetnicos. E
imprescindvel conhec-los previamente, quando se inicia o planeja-
mento arquitetnico. obtendo-os dos cdigos.
Exerccios teis sobre a legislao pertinente:
1- Ana~ise a legis!ao pertinente sobre edificaes do Munic-
pio de Lauro de Freitas. para informar-se dos parmetros a serem
obedecidos nos exemplos 1 e 2. da casa de veraneio e da igreja.
2 - Analise a legIslao pertinente sobre edificaes dO Munic-
pio de Salvador. para ver itcar os parmetros a serem obedecidos
com relao edificeo escolar para o tema escola de 1 grau, do
exemplo 3.
3- Confira. em edt;cio que conhea,_ a obedincia s normas
legais de urbanismo e edificao.
4 - Analise projetos arquitetnicos, para observar as solues
espaciais e construtivas com relao legislao pertinente.
116
':F- ---
6.7 - Resumo
Obtidas as informaes bsicas sobre os aspectos fisicos, as
relativas ao terreno e suas caractersticas: a planta, a forma e as
dimenses, a conformao do relevo, as orientaes quanto ao sol e
aos ventos, do entorno, os acessos e as que concernem legislao
pertinente, est formado o quadro das informaes fsicas do tema
arquitetnico.
Esse quadro constitui, junto corr, o elenco das informaes sobre
os aspectos conceituais, visto no item 5 da primeira etapa da adoo
do partido arquitetnico, o conjunto dS informaes bsicas com o
qual o projetista trabalhar na concepo do proJ eto.
Na realidade esse quadro das informaes sobre o terreno repre-
senta um elenco de dados de aspectos fisicos que serviro para nor-
tear o raciocinio criativo de elaborao do partido arquitetnico. Isso
significa dizer que, diferentemente das caractersticas das informa-
es contidas nos dados dos aspectos conceituais. que so de fato
decises de projeto e devem ser cumpridas. os dados sobre os
aspectos fsiccs so variveis fsicas, indicativas e no imperativas.
referenciais a serem utilizados como alternativa nas decises de
projeto.
O projetista dispondo das informaes referentes aos aspectos
fsicos ir ajuizar quais as possibilidades de melhor dspor esses
elementos na adoo do partido, tendo em vista o grau de influncia
de cada uma das alter~ativas. e obter a soluo arquitetnica mais
adequada aos objetivos traados. Nesse sentido, o uso dessas vari-
veis no processo criativo do partido um exercicio de opo, de
escolha do que melhor pode significar no conjunto das variveis,
das informaes fsicas.
117
'.
',.
) --.
I' . "-
i'
1 "" ~ .
",," ., ,.. f'-
SEGUNDA ETAPA
ADOO DO PARTIDO ARQUITETNICO
- -
.~.
i
I
,
I
I
\
1
i
I
7- IDIAS BSICAS PARA A ADOO DO PARTIDO
7.1 - Introduo
Nesta segunda etapa da adoo do parti do arqui tetni co, a
questo essenci al para o projeti sta saber como transformar as
i di as em projeto. Essa transformao denomi nada aqui como O
ato de adoo do parti do que , emsi ntese, o trabalho de processar
as i nformaes bsi cas, i magi nar a i di a preli mi nar do projeto e ex-
press-Ia numa forma percepti vel atravs do desenho.
A adoo do parti do arqui tetni co pode nascer, si mplesmente
de uma i di a domi nante, numa i nterpretao di reta do tema como
uma resposta arqui tetni ca ao desafi o fei to ao projeti sta, decorrendo
desta i di a todas as demai s i di as do projeto. A adoo do parti do,
neste senti do, pode ser a resultante da i di a de uma nova i nterpreta-
o concei tual da soci edade para a qual o edi fi ci o vai servi r, por
exemplo. Outros parti dos nascem da i di a da funo. Outros da for-
ma. Ou de concei tos sobre estrutura e cobertura. Ou, ai nda, da
tecnologi a a ser uti li zada; e assi m por di ante.
A adoo do parti do, entretanto, pode surgi r, no apenas de uma
ni ca i di a, mas de um sem-nmero de i di as vi vei s sobre a con-
cepo do edi fi ci o, as quai s aparecem na mente do projeti sta e exi -
gem dele um procedi mento metodolgi co, de avali ao cri ti ca, des-
ti nado a raci onali zar sua mente para a escolha da i di a de parti do
mai s acertada para o tema proposto. Neste caso, h sempre i nmeras
i di as possvei s para atender a todos os requi si tos previ amente esta-
beleci dos e se proceder a adoo do parti do. Essamulti pli ci dade de
possi bi li dades de adoo do parti do para um determi nado tema
arqui tetni co fi ca evi denci ada, por exemplo, emconcurso de arqui -
tetura, onde cada concorrente apresenta uma soluo parti cular de
parti do, mesmo que as condi es (vari avei s e exi gnci as basi cas)
sejam i guai s para todos.
conveni ente, por i sso, no processo de adoo do parti do, o
projeti sJ a uti li zar-se de um mtodo de adoo capaz de permi ti r o
ordenamento das i di as, de modo adequado, como auxi li ar do pen-
samento cri ador, a fi m de faci li tar atomada de deci ses de projeto e
obter a sntese arqui tetni ca desejada. baseado nesse raci oci ni o
1 21
que se apresenta adiante o mtodo de proceder a essa adoo com
um modo ordenado.e seqenciado do raciocnio das idias.
importante salientar, desde logo, que no h, emprincpio, um
mtodo que seja o mais recomendvel para essetrabalho de sintese.
Neste sentido, qualquer mtodo pode ser vlido. E existem muitos.
Alis, na prtica do planejamento arquitetnico, pode-se dizer que
cada projetista desenvolve seu prprio mtodo de trabalho de snte-
se, de acordo com suas potencialidades, preferncias e convenin-
cias. Para o projetista experiente, portanto, a sntese arquitetnica
pode resultar simplesmente do ato de incorporao mental de in-
meras decises de projeto de uma s vez, numa concepo integral
do edifcio. Na realidade, o ideal a ser perseguido para a adoo do
partido arquitetnico , semdvida, o de imaginar-se o edifcio con-
jugando todas as variveis envolvidas simultaneamente. Esseato de
sntese integral pode realizar-se na mente do projetista treinado,
porm no fcil de ser idealizado pelo iniciante. Por essa razo,
para o iniciante que se apresenta nesta parte do livro ummtodo
inverso do ideal acima referido. Segue o de separar os raciocnios de
cada deciso, distinguindo, detalhadamente, as variveis envolvidas
em cada caso considerado, para facilitar o trabalho de sntese e de
sua compreenso.
Esse procedimento inverso do ideal o mtodo adotado aqui,
considerado como simples, prtico, de fcil percepo, indutivo,
comeando com o raciocnio das idias de enfoque geral para o par-
ticular e indo dos aspectos simples para os mais complexos, tendo
como finalidades bsicas reduzir dificuldades, tornar perceptveis os
avanos ,)s raciocnios e criar procedimentos crticos de anlise das
idias e de avaliao de suas vantagens e desvantagens. Como trei-
namento e o desenvolvimento da habilidade mental de raciocinar
globalmente com inmeras variveis e decises de projeto, o proje-
tista estar indo na direo do ideal e apurando o seu prprio mto-
do de sintese arquitetnica.
Na prtica, a sntese arquitetnica, configurada na adoo do
partido, pode ocorrer quando se combinam as informaes bsicas
(as decises conceituais referentes a: o conceito do tema, o progra-
ma arquitetnico, as relaes do programa e o pr-dimensionamento
do edifcio; eas variveis fsicas que dizemrespeito a: caractersticas
do terreno, as relaes com o entorno e a legislaco pertinente).
somadas com as idias gera(toras do processo de adoo do partido.
Neste processo o projetista h que raciot<inar e combinar diferentes
linhas do pensamento, embora essas linhas pertenam ao mesmo
quadro de referncias da sntese. .
So assim denominadas as linhas do pensamento:
a) As decises do projeto;
122
b) As idias dominantes;
c) As idias geradas nos planos horizontais'
d) As idias geradas nos planos verticais; ,
e) Oajuste tridimensional das idias.
.Essas nnhas e pensamento do mtodo de a~oo do partido
e~tao exp~lcadas a se~.U1r,com exemplos demonstrativos de aplica.
oes. praticas ?as Idelas. Para melhor compreenso delas, esto
Inclul.das tambe':l duas outras explicaes complementares e indis.
pensavels que sao as dos planos das idias e a da linguagem do
partido.
7.2 - Decises de projeto
A concepo do projeto requer a tomada de inmeras decises
as quais so chamadas de decises de projeto. Comeam a se;
tomadas ~esde a primeira etapa do planejamento arquitetnico, com
as deflnloes conceituais do tema; prosseguem nesta segunda etapa,
quando atingem o seu momento mais significativo, na adoo do
partido; ~continuam a ser tomadas na terceira etapa, do projeto,
noutro nlvel de enfoque.
.Quando o projetsta escolhe aforma do edifcio, por exemplo, ele
esta tomar:do uma deciso de projeto. Quando ele escolhe o modo
de ocupaao do edifcio no terreno, ele est tomando outra deciso
de projeto. Ele est decidindo sobre o projeto tambm, quando defi-
ne quantos pavimentos vai ter o edificio. Do mesmo modo decide
sobre o projeto quando distribui os elementos do program~ nos di-
versos pavimentos; o tipo de cobertura, sua forma eestrutura de sus-
tenta.o; .quando escolhe os setores e os elementos do programa
que vao ficar emtal ou qual orientao quanto ao sol e aos ventos
dominantes; os tipOS de acesso e seus locais no terreno; os elemen-
tos de fachada; as esquadrias; as texturas; os materiais, etc. E da
segu~o elenco de umnmero incontvel de decises que o projetista
estar.a exercitando ao longo da concepo do projeto.
E Importante salie!1tar que projetar umcontinuado exerccio de
t~mada de d.ecises. E importante tambm perceber que cada deci-
sao tomada e uma opo feita entre as inmeras alternativas existen-
tes. Dai ser fcil entender que a adoo do partido arquitetnico ,
sobretudo, o !esultado do exerccio de optar. Optar por uma deter-
n;lnada solua0 dentre as integrantes do elenco das alternativas pos-
SlvelS em cada aspecto a decidir. Nessa linha de raciocnio entende-
se que-s decises de projeto tmsempre uma ou mais razes de ser
uma o.u mais justificativas, portanto, tm sempre um porqu. Ess~
porque decorre tambm de deciso, optada dentre tant~s alternativas
possves. Quando o projetista resolve colocar uma escada crcular
123
j
no vestbulo do edifcio para acesso veftical aos outros pavimentos.
por exemplo, ele est decldid-o por esse tipo de escadlr, ao mesmo
tempo, est optando por uma soluo dentre vrias. tais como, entre
a escada de um s lance, direto, ou a escada de dois lances retos,
com patamar intermedirio na forma retangular, etc.
A escolha tambm no deve ser uma deciso baseada somente
numa preferncia subjetiva. numa simpatia. O trabalho de conceber
um partido arquitetnico essencialmente umtrabalho tcnico e a
escolha, a opo, a deciso, deve sempre ser feita com base emra-
zes de ordem tcnica, esttica, econmica, social, etc., quer em
alguma dessas, quer em seu coniunto. Levar-se- em considerao
na escolha da escada, um ou vrios aspectos tcnicos, como, a fun-
cionalidade, a sua dimenso, o conforto do usuario, aforma. acarac-
terstica esttica, a imponncia ou importncia dela no ambiente, a
tcnica construtiva, o custo, etc.
Observadas as informaes bsicas conceituais (o conceito do
tema, o programa, suas relaes e o pr-dimensionamento) no enfo-
que do exerccio decsrio da sintese arquitetnica, tem-se que elas
so, ao mesmo tempo, decises tericas, conceituais de projeto, que
devem ser observadas na adoo do partido arquitetnico e so,
tambm, variveis indicativas, referenciais, visto que no determi-
nam o tipo de solua0 arquitetnica a ser adotada. Elas podem per-
feitamente ser usadas como variveis emumsem-nmero de alterna-
tivas de partido.
Observadas as informaes bsicas dos aspectos fsicos do ter-
reno a ser utilizado (a forma e dimenses, a conformao do relevo,
as orientaes quanto ao sol e aos ventos dominantes, os acessos, as
relaes com o entorno e a legislao pertinente) no enfoque do
exerccio decsrio da sntese arquitetnica, tem-se em mente que
elas so variveis que criam umquadro referencial de influncias, em
graus variados, dependentes da situao de cada varivel, a serem
consideradas no partido arquitetnico. As influncias dessas variveis
no constituem em si mesmas decises de projeto. mas influncias
de ordem restritiva ou indicativa a serem usadas na adoo do parti-
do, otimizando a soluo arquitetnica. Do mesmo modo que as
variveis conceituais, as variveis fsicas no determinam o tipo de
partido a adotar, mas geram alternativas a serem usadas convenien-
temente e so apiicveis a outro sem-nmero de alternativas de par-
tido arquitetnico.
So inmeras as decises de projeto adotadas no decurso da
etapa de sntese arquitetnica. As de maior significao, por se cons-
tituirem na base dos raciocnios do partido' arquitetnico e que de-
sencadeiam as demais decises so as seguintes:
a) A interpretao dos conceitos, pois toda soluo arquitetnica
124
tem uma diretriz conceitual de projeto que resulta da interpretao
frente ao conceito estabelecido para o tema;
b) O modo da ocupao do edfcio no plano horizontal, que
resu.lta _da disposio dos setores e dos elementos do programa
arqUltet~mco no terre~o escolhido, decorrentes das consideraes
de funao, de onentaao quanto ao sol e aos ventos dominantes, do
relevo, dos acessos,da forma do terreno, etc;
c) O nmero de pavimentos do edifcio, que resulta de uma srie
de vari~veis, dentre ~s quais" citamos a complexidade do programa,
a relaao entre o pre-dlmensionamento e a dimenso do terreno a
conformao do relevo, o custo, aspectos conceituais, o gabarito do
local, etc; .
d) A distribuio dos setores e dos elementos do programa nos
paVimentos, de acordo com a funo de cada um, do fluxo das ativi-
dades a serem exercidas e da clientela; de acordo com as orienta-
es quanto ao sol e aos ventos dominantes resultantes das anlises
da carta solar e do grfico de ventos;
e) As relaes do programa entre os setores eentre os seus ele-
mentos, face s inter-relaes de funes e atividades do tema;
f) A posio dos elementos de ligao, os elementos do progra-
ma que exercem papel de elo de ligao entre setores e demais
elementos;
g) As relaes do programa e seus componentes (setores e ele-
mentos) face conformao do relevo, para sincronizar forma e
ocupao do edifcio sobre o terreno;
h) As disposies dos acessos, compatibilizando-os com as vias
existentes, com a ocupao do terreno, com os elementos do pro-
grama, com as circulaes horizontal e vertical do edifcio:
i) As restries e permisses estabelecidas na legislao perti-
nente para o tema, para o terreno, para o edifcio; em especial, as
variveis que se referem ocupao (taxa de ocupao e coeficente
de utilizao), os recuos (frontal, laterais, e de fundo), o gabarito
(a altura mxima permitida), as normas construtivas (reas de cmo-
dos, envasaduras, ps-direitos, etc.);
j) As relaes entre a forma e as dimenses do terreno e do edif-
cio, que so aspectos intimamente relacionados entre si;
I) Os compromissos porventura existentes entre o edifcio e seu
entorno (vista significativa de acidentes geogrficos como mar. lago,
rio, montanha, plancie ou revestimento floristico, etc.);
m) ~disposio das circulaes horizontais e verticais para alen-
der aos requisitos de funcionalidade, compatibilizando-as com os
acessos, com os setores e elementos do programa, coma ocupao
do terreno, etc.
Simultaneamente a essas, outras decises de projeto so toma-
125
i
i
das levando-se emconta variveis de natureza tecnolgica devalores
estticos, econmicos etc, at ento no cog,tadas, como, por
exemplo:
1) As tecnolgicas: _ ...
_ O sistema estrutural que servir de sustentaao do ed,f1clo;
_ O tipo de cobertura para proteger o edificio da ao das
intempries; -' _
- As tcnicas construtivas a seremutilizadas na construao;
- Os tipos de esquadrias, suas formas, dimenses, materiais,
disposies, etc. _
- Os custos dos materiais e da construao;
2) As estticas:
- A forma do edificio como expresso de beleza;
_ As propores do edificio nos planos horizontal e vertical;
- As relaes entre forma e contedo;
- As combinaes e contrastes dos elementos de fachada;
- Os valores estticos dos materiais utilizados;
- As texturas dos materiais e seus valores estticos;
- As cores dos materiais e seu uso.
7.3 - Idias dominantes
Toda idealizao de projeto arquitetnico pressupe aexistncia
de uma ou mais idias dominantes. A idia dominante a que dom,-
na a composio do partido e condiciona o. raciocni.o das demais
idias no planejamento arquitetnico do ed,flclo. A ,de,a_dom,.nante
pode ser originria de uma ou de vrias das info~~aoes bas,:as
(conceituais efisicas) como tambm pode ser originaria das dec,soes
de projeto. .
A idia dominante pode ser uma opo, uma escolha prev,amen-
te estabelecida ao inicio do processo de planejamento arquitetnico,
como pode tambm surgir durante a' coleta e anlise das informa~
es bsicas ou durante a adoo do partido. Quando ela surge e e
incluida no elenco das decises do projeto, passa a fazer parte dos
raciocnios do partido e impe-se a partir dai s demais conside-
raes. .
So vrios os exemplos de idias dominantes. O ba,xo custo da
construo do edificio constitui-se exemplo de idia dominante e
pode ser adotada como uma deciso preliminar para subordinar as
demais. Issoacontece quando os recursos aseremutilizados naobra
so escassos, quando se projeta para a clientela de ba,xa renda,
quando se busca obter preo baixo na edificao. Essa idia pode
126
induzir o 'raciocinio para simplificar o programa, as suas relaes,
reduzir o pr-dimensionamento, trabalhar com reas teis minimas,
usar tecnlogia de construo e materiais compatveis com esse
objetivo econmico.
Ao contrrio, pode-se ter, como idia dominnte do projeto, a
sofisticao da arquitetura, da soluo do partido sem restries
econmicas, que envolve outros tipos de raciocnios, onde o progra-
ma maior, as relaes do programa so mais complexas, o pr-
dimensionamento feito pelos padres dimensionais de maior espa-
o e conforto, a tecnologia construtiva pode ser mais sofisticada e o
uso de materiais mais nobres e caros.
No mbito conceitual pode-se comear um projeto tendo como
idia dominante uma proposta inovadora no campo da filosofia e da
teoria da arquitetura, no da interpretao da sociedade como um
todo ou um novo comportamento da clientela do edificio. Pode-se
elaborar um planejamento arquitetnico com vistas a uma interpre-
tao espacal das funes e atividades previstas para a clientela e
isto ser uma idia dominante. Uma nova tipologia arquitetnica ou a
interpretao da relao entre forma e funo na arquitetura podem
ser idias dominantes.
No mbito dos aspectos fisicos, as idias dominantes podem
surgir das influncias das variveis envolvidas nas caracteristicas do
terreno, como a forma do edifcio, por exemplo. Muitos projetos
podem ser concebidos partindo-se de idias formais dominantes. Da
relao com o relevo do terreno. Das consideraes de uso ou no
das orientaes quanto ao sol eaos ventos. Das relaes do entorno.
De aspectos da legislao pertinente.
As decises de projeto tm seu papel no contexto das idias
dominantes. A deciso sobre o nmero de pavimentos uma delas e
pode estar tomada previamente ao planejamento arquitetnico. As
questes de ordem esttica, como aforma do edificio, seu volume, .as
relaes de proporo entre suas partes, as relaes entre os cheios
e vazios (paredes e envasaduras). As questes de ordem tecnolgica
tambm podem exercer papel de idias dominantes: a tecnologia
adotada, o sistema estrutural, a cobertura, etc.
As idias dominantes podem ser umconjunto de idias origin-
rias desses diversos aspectos considerados.
importante o raciocnio sobre as idias dominantes feito pelo
projetista, para us-lo como diretriz da adoo do partido arquitet-
nico e Gbjetivar mais as outras idias. Esse raciocnio sobre as idias
dominantes deve ser desencadeado preliminarmente ao raciocnio de
partido, pois os demais raciocnios sero feitos com base nele.
Pode-se dizer que as idias dominantes so referncias ideol-
gicas do partido.
127
I'
I
r
I
Outra observao que necessrio mencionar a de que nem
toda deciso de projeto idia dominante, mas toda idia dominante
deciso de projeto.
7.4 - Idias e planos
Compreenda o modo de idealizar o partido.
Idealizar o partido arquitetnico conceber um slido geom-
trico contendo trs dimenses. O edifcio um volume. A idia do
partido est, portanto, comprometida com essas idias tridimensio-
nais. E desse modo que o edifcio deve ser concebido. Quanto mais
desenvolvida estiver a habilidade do projetista de imaginar o edifcIo
na percepo tridimensional, mais apto estar para produzir um
bom projeto arquitetnico. . . .
A adoo do partido processa-se, basicamente, em dOIs tipOS
diferentes de procedimentos. Um procedimento inicial, quand~ o
projetista ordena o pensamento criador com base nas Informaoes
bsicas para idealizar o edificio e, noutro procedimento subsequen-
te. quando o expressa numa forma perceptivel. O ideal da adoo o
de que o pensamento criador e a expresso perceptvel desse pensa-
mento correspondam a uma forma de linguagem tndlmenslonal que
traduza por inteiro a dimenso volumtrica do edifcio. Pensar o edi-
fcio nessa dimenso possivel, e o projetista, se no dotado dessa
habilidade, pode adquiri-Ia exercitando-se. Agora, a expresso per-
ceptivel desse volume possivel realizar-se utilizando-se tecnlcas
sofisticadas e complexas de representao grfica como, por exem-
plo, por meio de maquete, - modelo reduzido do edifci.? -, ?~atra-
vs do uso do computador, com sistema de representaao graflca tn-
dimensional.
Trataremos aqui do modo simplificado da expresso perceptvel
do volume do edificio, na percepo tridimensional, usando-se o
sistema grfico, geomtrico, de referncias bidimensionais. Esse
sistema facilita o raciocinio, ajuda a compartimentar o processo de
adoo do partido para diminuir as dificuldades de idealizao e com
ele possivel expressar com clareza e preciso a noo tridimen-
sional do edificio.
O sistema bidimensional de referncias grficas, que permite_a
idealizao e a representao do edificio numa viso com dimensao
volumtrica formado de planos geomtriCOSortogonais, ut,lizando-
se os conh~cirnentos adquiridos na cincia da geometria descritiva
aplicados elaborao do partido arquitetnico._ . .
Uns. os planos de referncias horizontais, sao onde se.lndlcam
as informaes idealizadas nas dimenses de largura, comprimento e
rea, de posies contidae nos planos, como de posies projetadas
128
sobre eles; de baixo para cima e de cima para baixo. E outros, os
planos de referncias verticais, aqueles onde se indicam informaces
idealizadas na dimenso da altura, de posies contidas neles e
outras projetadas de elementos que esto suafrente eatrs dos pia-
nos verticais.
As idias expressas nesses planos so representadas na lingua-
gem grfica, de acordo com a tcnica do desenho arquitetnico
convencionada.
Os planos horizontais do sistema so denominados de plantas e
os planos verticais, de cortes e fachadas do edifcio. O conjunto
desses planos necessrios para expressar a idia bsica do partido
arquitetnico no sistema bidimensional de referncias grficas, deve
ser formado de nove planos, emmdia. So frs planos horizontais e
seis verticais.
A perspectiva desenhada no croquis 5, pgina 130, do tipo de
perspectiva explodida, mostra a disposio dos nove planos com os
quais o projetista expressa as idias do partido, tendo-se usado
como exemplo de slido de representao do edifcio a figura do
cubo. com esse conjunto de planos que se constitui o sistema bi-
dimensional de referncias grficas, para expressar a idia do parti-
do na viso tridimensional.
Os planos horizontais do sistema so:
1) O plano da planta de situao, o (1) do croquis 5, que sesitua
na parte inferior do edifcio, no nvel do terreno, quando esse nivel
coincide com o da rua, ou no nvel da rua quando o terreno inclina-
do. A planta de situao o plano horizontal que serve para se ex-
pressarem as idias de ocupao do terreno pelo edifcio e as rela-
es estabelecidas entre eles.
2) O plano do pavimento, da planta baixa, o (2) do croquis 5, que
se situa numa altura varivel entre 1.00ma 1.50macima do plano da
planta de situao, convencionada pelo projetista. Oplano da planta
baixa o plano horizontal que seciona o edifcio na altura conven-
cionada e serve para nele seexpressarem as idias dadisposio dos
elementos do programa no pavimento e demais referncias ligadas a
el~. Quando o edificio tem dois ou mais pavimentos, entretanto, o
sistema de representao grfica conter umplano horizontal para
cada pavimento, exceo feita aos pavimentos com plantas iguais,
comumente denominadosdepavimentotipoerepresentadosporumplanoso
3) O plano da planta da cobenura, o (3) do croquis 5, o plano
horizontal que se situa acima do edifcio, distncia convenciona-
da, e serve-para nele se expressarem as idias referentes parte
superior do edificio, a sua parte mais elevada. Como este plano no
seciona o edifcio, so projetadas sobre ele de baixo para cima, orto-
gonalmente, as idias da cobertura e das demais referncias ligadas
e prximas a ela.
129 I
I
tI< o o o I S
I
i
I
,.
,
!
I
Os planos verti cai s do si stema so: .
1) Os que se si tuam na parte i nterna do edi fco, os planos dos
cortes, emnmero mnmo de doi s, sendo umo da seo transversal
. e' o outro o da seo longi tudi nal ao plano do pavi mento, os (4) e (5)
do croqui s 5, que servem para expressar as i di as do i nteri or do edi f-
ci o com as refernci as alti mtri cas. Haver tambm caso de adoo
do parti do emque se deve express-lo commai s de doi s planos verti -
cai s i nternos - os cortes - para se mostrarem todas as i di as, quan-
. do esses no forem sufi ci entes.
2) Os que se si tuam defronte do edi fci o, os planos das fachadas,
em nmero de quatro, os (6), (7), (8) e (9) do croqui s 5, emdi stnci a
convenci onada que servem para expressar as i di as das suas faces
externas com as refernci as alti mtri cas. Haver caso tambm de
adoo do parti do emque sepode aumentar o nmero desses planos
das fachadas, quando o edi fi ci o tem mai s de quatro faces. E di mi nu-
lo, quando h menos faces ou h face colada emface do outro edi f-
ci o que a i nILali da.
Ao projeti sta cabe julgar da conveni nci a, ou no, dessas alte-
raes.
Instrumentado com o si stema bi di mensi onal de refernci as gr-
fi cas para expressar na forma perceptvel a i di a do parti do arqui te-
tni co, o projeti sta pode perceber que possi vel ordenarem-se as
i di as segundo esse si stema, numprocedi mento i nverso ao da repre-
sentao, usando, o si stema para raci oci nar as i di as do parti do.
Para i sso o projeti sta deve habi tuar-se a raci oci nar com os planos do
si stema. Imagi nari amente. como se colocasse o plano na i magi na-
o e ordenasse as i di as nele. A pri nci pal vantagem do uso desse
si stema de refernci as a de poder-se i magi nar o parti do por partes,
expressando-as nos planos. Neste processo o parti do resulta da con-
jugao dos planos hori zontai s e verti cai s com as i di as neles ex-
pressas.
Esse si stema de refernci as bi di mensi onai s a base do mtodo
de i deali zao do parti do arqui tetni co uti li zado neste li vro e vi sa
com ele si mpli fi car o raci oci ni otri di mensi onal, ajudando ao projeti s-
ta i ni ci an'te na prti ca do planejamento arqui tetni co a di vi di r as di fi -
culdades na i deali zao do parti do. trabalho que envolve o uso de
mui tas vari vei s si multaneamente.
Em decorrnci a di sso, encontram-se adi ante as expli caes do
modo como raci oci nar as i di as do parti do nos planos hori zontai s e
verti cai s.
-" "
A i deali zao e a correspondente expresso grfi ca do parti do
fei tas conforme o si stema bi di mensi onal de refernci as apresentado
requerem, durante todo o processo de adoo do parti do e no seu
fi nal, umtrabalho complementar de ajuste das i di as produzi das nos
1
' . -
< - _o -
I
I
I
I
,
, .
I -
,
,
(9)
ri 1 1 t Dl
fACHi\l I,
PL l o , . . : . Di
J ,\ (I' f,,11'.
CONVE NnE S
o. /lL TuRA DO PLANO UO PAVIMENTO EM R[l ",' )
:' C) PLANO Df. SITli AC1l.0
b' l TORA DO PLANO DA SITUA') EM R E L II AO
/10 TERRENO. E~ TERI<Er-O PLANO r" O.
C' ALTURA DO PLANO Dl. COBERTURA E" " RE:" AC';l
'li COBERTURA DO EDIF(CIO .
d. DISTNCIA DO PLANO DA FACHADA E A FACE
DO EOIF(CIQ.
EXPLICAO: _
A PERSPEtTl\'A ESPLODIDA. DESENHADA ACIMA. MostRA li DISP0SIAQ DOS NOVE
PLANOS DUE FORMAM O CONjUNTO 00 Si StEMA BI-DIMENSIONAl DE REFERNCIAS
GRFICAS UTILIZADO PELO PROJ ETISTA PARA EXPRESSAR A Wt'IA DO PARTlllC
ARQUITETNICO -NA Vi SO TR~OTt.lENSIONAL. TENDO !'.'ESTE EXEMf-L0 A FIGuRA
DO CUBO COMO o SLI[lQ REf-RES[N1A'IVC) DO EI)IFICIO.
L-~-------(d
l-lANO DA SITUA!).0
PERSPECTIVA DA DISPOSi O DOS PLANOS DAS IDE'IAS DO PARTIDO
I~hl
__ ~l::::::: PL:' NO DI' . CE>[!- ;ll,l<l.
//:7:
r :
PLANO DE CO RTE
\ L.)NG1' UOI" All
(.)---,.
Pl NO DE CORrE
I TRANSVERSt.L)
. ,
(7) - - - 7//~/
PFL;r\OAgi ~:(
1 31
planos do sistema, para compatibilizar a associao das idias dos
planos horizontais' com as idias dos planos verticais, para com isso
obter-se a formulao integral e sincronizada, tridimensional do
conjunto.
Complementarmente a essa forma bidimensional de expresso
do partido, o projetista pode tambm utilizar-se da perspectiva, uma
tcnica grfica auxiliar importante, feita no sistema b.!-dimensional
de representao, para expressar as idias do partido, tanto na viso
interna como na viso externa do edificio, como se fosse a viso tri-
dimensional, a partir de um ponto de observao previamente
escolhido.
7.5- Linguagem do partido
A forma perceptivel de expressar as idias do partido a da lin-
guagem grfica do desenho arquitetnico, umsistema convencional
de representar as idias do edifcio. Esse sistema, denominado de
sistema bidimensional de' referncias grficas, formado de umcon-
junto de planos geomtricos, horizontais e verticais que, imaginaria-
mente, secionam ou se pem defronte do edificio emposies esco-
lhidas ou convencionadas, Produz as plantas, quando secionam o
edifcio horizontalmente ou os cortes, quando o secionam vertical-
mente, Produz as fachadas, quando passam defronte das faces do
edifcio. Nesses planos esto representados, sob a forma de seo,
tudo do edifcio que passa na superfcie do plano e, sob a forma de
visualizao feita por umobservador colocado no infinito, os elemen-
tos do edifcio dispostos defronte do plano, na direo da observa-
o, H informaes outras que, no estando no plano, nemsendo
vistas pelo observador, so importantes para esclarecimento das
idias, podem ser tambm representadas no plano sob a forma de
projeo. A projeo sobre o plano pode levar emconsiderao tanto
as informaes contidas acima ou abaixo do plano horizontal quanto
as da frente ou atrs do plano vertical.
No seu conjunto, o s'istema expressa a noo tridimensional do
edifcio.
Os planos horizontais so:
a) Planta de situao;
b) Planta baixa;
c) Planta de cobertur3,
O planos verticais so:
a) Cortes;
b) Fachadas.
Esse sistema o mesmo usado nas expresses perceptveis do
132
partido e do projeto. A tcnica grfica do desenho arquitetnico usa-
da para representar o edifcio expressa-se" contudo, em nveis dife-
rentes de linguagem conforme a etapa do planejamento arquitet-
niCO, correspondendo a cada etapa um nvel prprio de expresso.
En:<uanto na etapa do_projeto a linguagem deve ser a definitiva, a
pro~na_ para a execuao da obra do edifcio, para a anlise tcnica
do. ~rgao municpal que analsa e aprova projeto, a que representa o
edlflclo na sua expresso integral e conclusiva, feita na escala de
1:50e com informaes mais precisas. Naetapa do partdo arquitet-
niCOque antecede. ao projeto, a linguagem deve ser a que expresse
baslcame"te as Idelas, pOISo partido a etapa prelimi'lar do projeto
e, sendo aSSim, deve ser desenhado numa linguagem simplificada,
numdesenho menor, emescala diferente do projeto, a 1:100, porm
sufiCiente para representar o nvel das idias emsua inteireza sem
contudo, aprofund-Ias. Ela no ainda a linguagem apurada d~
proJ eto.
No partido arquitetnico, as expresses grficas da linguagem
podem ser feitas para representar os planos e informar as idias da
seguinte maneira:
A planta de situao o plano horizontal que contm o terreno
escolhido com suas r,:ferncias fsicas (forma e dimenses, rua que o
limita, rele~o,. Indlcaao do norte, de acidente geogrfico, de revesti-
mento flonstlCO) e a projeo vertical do edifcio sobre ele. Nesta
planta, e onde se registram as informaes das idias' referentes ao
modo de dispor o edifcio no terreno, suas relaes dimensionais
(dimenso do edifcio e do terreno, e afastamentos, recuos e distn-
c.las entre os lados do edifcio e os lados do terreno), eforma do edi-
flCIOe do terreno), todas consideraes no plano horizontal no nvel
da rua ou_do terreno, Nesta planta devemestar expressas tambm as
Informaoes referentes s idias dos acessos (os concernentes ao
loteamento.: rua, passeio;.e os concernentes ao edifcio: de pedes-
tres, de velculos), e as Ide~assobre o uso das reas disponiveis do
terre~o (estaCionamentos, area verde, jardim".). A indicao sumria
da Idela ~a cobertura e das guas do telhado e indicao de algumas
Informa?es eXigidas pela legislao pertinente: rea do terreno ede
construao do edifcio etaxa de ocupao, A planta de situao deve
se; desenhada na escala de 1:200, Ela no se diferencia no seu con-
teudo da planta de situao da etapa do projeto,
dis A pl~nta baixa o plano que contm a representao da idia da
li po_slao dos elementos do programa, inclusive os elementos de
gaao, das p",edes, das envasaduras, dos pilares da estrutura dos
equipamentos especiais (vasos sanitrios, lavatrios, pias e o~tros
equipamentos fiXOS),tudo considerado no plano horizontal do pavi-
mento, com suas dimenses. formas e demais informaes tcnicas
133
j
j
da idia da planta prprias da linguagem. Nesta plar.ta. podem-se
representar elementos projetados em nvel diferente do plano. Quan-
do o edifcio tem dois ou mais pavimentos. o partido ter quantas
plantas baixas forem 'necessrias para representar, excludos os pavi-
mentos com plantas iguas (pavimento tipo). Quando h dois ou mais
pavimentos, poda-se representar, em projeo, idias dos demais
pavimentos na planta baixa. A planta baixa deve ser desenhada na
escala de 1:100.
A planta de cobertura o plano que passa sobre o edificio e mos-
tra sua parte superior, expressando a idia da cobertura. como telha-
do e suas guas, o tipo de telha utilizado e os elementos estruturais
de sustentao desse telhado. Nela podem estar representadas tam-
bm as idias que dizem respeito a elementos do edifcio constantes
logo acima e logo abaixo da cobertura, tais como, o reservatrio
d'gua elevado, a casa de mquinas de elevadores, a platibanda do
telhado, o rufo, a algeroz, a calha, a cumeeira ... A planta da cobertura
deve ser desenhada na escala de 1:100. A cobertura pode no ser de
telhado, ento, a representao deve corresponder idia do mate-
rial imaginado para cobrir o edifcio.
Os cortes so os planos verticais que mostram as idias das
sees internas do edificio. Eles so em nmero minimo de dois,
um transversal e outro longitudinal, com relao ao plano da planta
baixa. Eles mostram as idias no sentido da altimetria, do espao,
dos cmodos, das medidas vert.icais (as alturas, os ps-direitos, as
sees dos pisos e teto, as paredes, as vigas e as lajes), da disposi-
o da cobertura (telhado, sua inclinao e estrutura de sustentao,
calhas e cumeeiras), do reservatrio de gua elevado, das envasadu-
ras internas e externas, da acomodao do edifcio no terreno, o per-
fil do'terreno e outros elementos tcnicos perceptveis no plano ver-
tical, alm de poder tambm projetar sobre o plano, informaes de
idias contidas em partes do edifcio que no esto no plano, postas
na frente e atrs dele e que merecem meno. Os cortes devem ser
desenhados na escala de 1:100.
As fachadas so os planos verticais que, dispostos defronte das
faces externas do edifcio, representam as idias sobre o modo de
dispor essas faces. As fachadas devem corresponder emquantidade
ao mesmo nmero das faces do edifcio, normalmente emnmero de
quatro. Nelas devem estar registradas as idias de disposio das
paredes e das envasaduras externas (as esquadrias: portas e jane-
las...), a parte visvel da cobertura e demais elementos componentes
das faces do edificio. As fachadas so, portanto, a representao dos
elementos visveis do exterior do edifcio, semseo nemprojees.
Elas devem ser desenhadas na escala de 1:100.
bom observar que nos planos horizontais (da situao, do pavi-
134
mento. e da cobertura) a representao das idias feita tomando-se
o sentido da observao vertcal do edifcio, de cima para baxo. No
corte, a obse,;,ao horizontal e h de se escolher uma das duas
dlreoes posslveis para o sentido da observao colocado o obser-
vador defronte da face a ser observada.
135
I
j
8- IDIAS NOS PLANOS HORIZONTAIS
8.1 - Nmero de. pavimentos
Decida sobre o nmero de pavimentos do edifcio. Essa uma
deciso importante de projeto a ser tomada no processo de adoo
de partido e faz parte do elenco das idias dominantes, porque exer-
cer influncia marcante na concepo do edifcio.
A deciso sobre o nmero de pavimentos influi na disposio
dos setores, porque estes se disporo no terreno e no edifcio con-
forme esse nmero. A influncia acontecer tambm com a disposi-
o dos elementos do programa. Ela influir no volume e naforma do
edifcio, porque esses aspectos se expressam na sua horizontalidade
;,. ou verticalidade, conforme tenha um nmero menor ou maior de
pavimentos. Ela influi na ocupao do terreno na razo inversa desse
nmero.
Em inmeros casos de adoo do partido, a deciso sobre o
nmero de pavimentos do edifcio precede as especulaes com as
hipteses de disposio dos setores no terreno e as condicionar.
Nestes casos, a deciso sobre o nmero de pavimentos condiciona
as demais idias do partido por ter sido tomada previamente. Noutros
casos, quando a deciso no possivel de ser tomada previamente,
far parte das especulaes com as hipteses de disposio dos se-
tores, sendo influenciada por diversas variveis do elenco das infor-
maes bsicas e das decises de projeto.
So vrias as razes pelas quais se decide sobre o nmero de
pavimentos do edifcio. A relao entre os valores dimensionais esta-
belecidos. no pr-dimensionamento do edifcio e a dimenso do ter-
reno uma dessas razes. J vimos a influncia dessa relao sobre
o nmero de pavimentos que cresce quando forem maiores as medi-
das do pr-dimensionamento e diminui quando for menor a dimen-
so do terreno. As reas dimensionadas podem chegar aumlimite no
qual as dimenses previstas para o edifcio superem a possibilidade
de ocupo do terreno (considerando a taxa de ocupao). A solu-
o, neste caso, ocupar o espao no sentido vertical, comdois ou
mais pavimentos, distribuindo-se entre eles os setores e os elemen-
137
j-;-:
b~i ~
tos do programa. A complexidade do programa pode tambm induzir
verticalizao do edifcio, quer dizer, disposio do edifcio em
dois ou mais pavimentos. As relaes do programa, do ponto de vista
da funcionalidade, podem tambm recomendar a verticalizao do
edifcio em dois ou mais pavimentos. As relaes do programa, do
ponto de vista da funcionalidade, podem ainda recomendar avertica-
lizao do edifcio, para adequar melhor as funes nos pavimentos.
A conformao do relevo, principalmente quando o terreno inclina-
do, pode tambm induzir verticalizao, dispondo-se o edfcio num
certo nmero de pavimentos para cima e para baixo do nivei da rua
emdecorrncia do aproveitamento ou acomodao ao terreno. Neste
caso, cabe decidir que setores e que elementos do programa ficaro
situados emcada pavimento. O gabarito de altura, uma exigncia da
legislao pertinente que estabelece o limite vertical at onde o edif-
cio pode atingir, outro indicador do nmero de pavimentos, atuante
como parmetro restritivo ou limitativo deciso sobre esse nmero.
Nemtodos os terrenos urbanos, porm, sofrem restries de gabari-
to. O coeficiente de utilizao, outra exigncia da legislao que
estabelece a relao entre a rea de construo do edifcio e a rea
do terreno, tambm atua como parmetrc ~~stritivo da deciso sobre
o nmero de pavimentos. O custo da construo do edificio pode,
por fim, interferir na deciso.
Nesse caso, entretanto, o custo pode ser analisado como um
compromisso transitrio do edifcio incidente na fase de construo.
Vale a pena cotej-lo com as razes de ordem permanente, como as
vantagens funcionais, as derivadas das orientaes quanto ao sol e
aos ventos dominantes, as de ocupao do edifcio no terreno, as
decorrentes do sistema estrutural adotado, as dos valores estticos
etc.. Todas so razes que concorrem significativamente na deciso
de tornar o custo um requisito de menor importncia.
Outras razes, almdas j citadas, podematuar nadeciso sobre
o nmero de pavimentos do edifcio. Algumas consideraes sobre
os aspectos estticos so exemplos dessas razes, como a busca de
uma forma para o edifcio, seu volume esuas propores. A seguran-
a das pessoas e das atividades a serem desenvolvidas no edifcio
podem induzir a colocar certos setores em pavimento que no O
trreo. A circulao entre funes pode ser melhorada coma mudan-
a do nmero de pavimentos. A vista circundante, quando uma pai-
sagem de valor marcante e impe a integrao do edifcio como seu
entorno, pode tornar-se uma idia dominante superando outras
razes tcnicas e determinando o nmero de seus pavimentos. A
tecnologia adotada na construo do edif(cio, cujas peculiaridades
determinam limites na sua altura, pode tambm influir na deciso. A
hierarquia das funes que estabelece convenincias e exige facili-
138
dades na disposio dos setores e dos elementos do programa para
atendimento clientela ou grupos da clientela, pode determinar e at
limitar o nmero de pavimentos do edificio.
A busca das razes que justifiquem a deciso sobre o nmero de
pavimentos deve ser feita e a deciso deve ser tom9da com liberdade
para decidir com quantos pavimentos sefar o edifcio, especialmen-
te quando as varaveis restritivas tiverem pouca influncia na deci-
so. Isso possivel, quando o terreno plano, sua forma e suas di-
menses so compativeis com as dimenses do programa para dis-
por os setores num nico pa'{imento, conforme o pr-dimensiona-
mento do edifcio. Neste caso,vale a pena especular sobre aescolha,
se de um ou mais pavimentos, utilizando as razes que sugerem a
melhor alternativa. Quanto menos restries houver para a deciso
ser adotada, mais fcil setorna dispor os setores no terreno e os ele-
mentos do programa no edificio e com melhores vantagens. Quando
h restries, cabe avali-Ias, perceber o grau de influncia dessas
restries e adotar a deciso mais conveniente ao caso.
Vajamos alguns exemplos de deciso sobre o nmero de pavi-
mentos.
Exemplo 1:
A casa de veraneio. Tanto pode ser disposta em um, como em
dois e at emtrs pavimentos. A disposio dos setores emumpavi-
mento, com os trs setores contidos nele, tem algumas razes que
justificam a deciso, tais como: a busca da soluo de menor custo,
da mxima ocupao da rea disponivel do terreno, semuso de cir-
culao' vertical, etc. A disposio da casa emdois pavimentos pode
ser feita com os setores sociais e de servio no pavimento trreo e o
setor intimo no pavimento superior. Essa uma soluo freqente-
mente utilizada nesse tema, diramos at a mais intuitiva, porque
coloca os setores que tm elementos de acesso no nivel das ruas e
separa pelo plano vertical a intimidade da casa, representada pelo
setor ntimo, tornando-o mais privativo e seguro. Essadisposio em
dois pavimentos, provavelmente envolver maior custo, pela exign-
cia da maior complexidade construtiva, acrescida de elemento de cir-
culao vertical. Por outro lado, essa disposio torna menor a
ocupao do terreno, melhora a segurana, permite tirar melhor pro-
veito das orientaes quanto ao sol e aos ventos, pela maior facili-
dade de dispor os setores e pela facilidade de acomodao do edif-
cio sobre o terreno. Pode tambm facilitar outros tipos de especula-
es 'd ordem esttica sobre a forma e o volume do edifcio.
Essas so aloumas dentre as muitas razes a analisar para a
escolha do nme;o de dois pavimentos da casa de veraneio. Haver
razo, por certo, que justifique a disposio de dois ou dos trs seto-
139
, ,
i
i
res da casa num pavimento. bom lembrar que o terreno escolhido
est prximo ao mar (rever informaes sobre a planta do terreno a
pgina 76 e seguintes), o qual umimportante acidente geogrfico e
pode propiciar uma vista agradvel do ambiente marinho ao verani~-
ta. Esse fator do entorno pode ter relevncia na deciso sobre o nu-
mero de pavimentos e disposio dos setores neles. A esse racio-
cnio acresce o fato de que o terreno est situado na cota 2.00m
abaixo do piso do passeio existente prximo praia eque, para avist-
la e ao mar, o observador que esteja no terreno deve situar-se acima
dessa cota. Portanto, a parte da casa de onde se quer ver o mar. Os
setores social e intimo, devem ficar no pavimento superior. Admitin-
do-se que a deciso de dispor os setores da casa tenha sido a de
dois pavimentos, tendo em vista as razes expostas acima, devero
ser esboadas as hipteses do modo de dispor os setores no terreno
e no pavimento superior, conforme essa deciso. Antes disso, porm,
conveniente redistribuir os elementos do programa. colocando os
que ficam em cada pavimento e refazendo o clculo das reas dos
setores conforme essa nova distribuio.
Exemplo 2:
Analisemos a igreja catlica, sob a tica da deciso sobre o
nmero de pavimentos. Emprincpio, os setores podem ser dispostos
em um ou mais pavimentos. A disposio em um pavimento parece
ser a mais intuitiva. Ela' compatvel com todas as exigncias das
variveis conceituais e fsicas. Algumas razes importantes podem
ser deduzidas dela: a ocupao do terreno ser menor do que a per-
mitida pela legislao pertinente (permite-se ocupar at 50%da rea
do terreno e o total da rea de construo chega a 40%), a confor-
mao do relevo plana, 'as vantagens das orientaes quanto ao sol
e aos ventos podem ser aproveitadas ao mximo, h disponibilidade
de espao para os acessos nas duas ruas, o custo da obra provavel.
mente no ser onerado e a tcnica construtiva pode ser mais sim-
ples. H neste caso total liberdade de dispor o edifcio sobre o terre-
no, horizontalmente. inclusive quanto s consideraes de ordem
esttica da forma do edificio, do volume e das propores, pois a
forma e as dimenses do terreno no criam restries formais. Por
tratar-se de edificio pblico, para onde converge clientela numerosa
e diversificada cujo fluxo exige facilidade de acesso e de circulao,
dispor O edificio em umpavimento uma deciso recomendvel. Por
outro lado, a idia de dispor os setores emdois ou mais pavimentos
admissivel e vale a pena especular, mas, de antemo. sabe-se que,
neste caso, perde em significao pela falta de razes que justifi-
quem suficientemente essa disposio e superem o conjunto das
razes que indicam na direo de um pavimento.
140
Exerccios teis sobre o nmero de pavimentos:
1 - 'Especule sobre as razes que justificam a disposi~o da
casa de veraneio feita emtrs pavimentos.
2 - Especule sobre as razes que justificam' a disposio da
igreja catlica feita em dois pavimentos.
3- Especule sobre as razes que justificam adisposio daesco-
la de 1
0
grau feita em um, dois e trs pavimentos.
4 - Especule sobre as razes que justificam a deciso sobre o
nmero de pavimentos de outro tema conhecido.
5 - Verifique o porqu do nmero de pavimentos de projeto de
edifcio conhecido.
6- Especule sobre os porqus da disposio dos setores de edi-
fcio ou projeto conhecido quando se altera o nmero de pavimentos.
8.2 - Disposio dos setores
Idealize o modo como dispor os setores do programa arquitet-
nico no terreno escolhido. A disposio dos setores a idia mais
geral e inicial do partido arquitetnico. Desenhe as idias da disposi-
o sobre a planta do terreno.
A disposio dos setores surge da combinao das variveis ana-
lisadas nas informaes bsicas, com as decises do projeto envol-
vidas nas idias do partido. As idias sobre a disposio estaro con-
dicionadas aos diversos graus de influncia das variveis conceituais
e fsicas, como a do conceito do tema, vez que o objetivo de cada
setor do programa pode ser indicativo de uma determinada posio
no terreno. A influncia decorre tambm das relaes do programa.
porque as funes dos setores estabelecem vinculas de maior ou
menor grau de preferncia comas posies no terreno, especialmen-
te entre aqueles elementos que tm ligaes comos acessos. A influ-
ncia se manifesta no relevo. quando a conformao deste impe
condies de acomodao do edificio ao terreno. Manifesta-se com
relao s orientaes, quanto ao sol e aos ventos dominantes, quan-
do exigem priorizarem-se as disposies dos setores conforme a
finalidade de cada um, para atenuar os efeitos desconfortantes da
insolao e para aproveitar os efeitos benficos da ventilao. idem
com relao s normas da legislao pertinente, especialmente
quanto s restries sobre a ocupao, porque estas restries po.
dem cORdicionar as posies dos setores no terreno. A influncia
tambm decorre das relaes entre os valores dimensionais do pr-
dimensionamento dOedifcio edas dimenses e da forma do terreno.
Faa a especulao sobre a disposio dos setores usando, ini-
cialmente, para simplificar O raciocinio, as seguintes variveis: os
141
"
setores do programa, suas relaes 'de funes, as orientaes quan-
to ao sol e aos ventos, as decises quanto ao nmero de pavimentos
e quanto aos acessos.
Tome os setores do programa e estude as posies que podem
ocupar no terreno, desenhando-as na planta. Mantenha as indica-
es existentes quanto s relaes de funes entre eles. Observe
quais so as melhores orientaes quanto ao sole_aos ventos domI-
nantes com relao ao terreno e vincule as pos'oes dos setores a
essas orientaes. Na maioria dos casos de disposio dos setores,
necessrio estabelecer prioridades entre eles, tendo em vista as
orientaes, quando no se pode dispor todos nas melhores orienta-
es. As prioridades podem ser estabelecidas observando as finali-
dades das funes de cada setor. Estabelea o numero de pavImen-
tos que.deve ter o edifcio e raciocine a disposio dos setores com
base nessa deciso.
Como freqente ao projetista entusiasmar-se pela primei~a
idia que surge e ach-Ia tima e desmotivar-se para a especulaao
com outras, recomenda-se especular comvrias idias de disposio
dos setores, mesmo que paream desnecessrias, inclusive algumas
que sejam divergentes ou at contraditrias em relao primeira,
para servir como termo de referncia. Esse procedimento e utd ao
processo de adoo do partido, para tirar um pouco do conteudo
emocional e subjetivo da primeira idia e colocar umpouco de racIo-
nalidade no processo, constituindo-se num elo do dilogo que deve
existir do projetista consigo mesmo, num processo crtico e ajudar
na deciso que ter de adotar por uma das hipteses de disposio.
Observe tambm que, nesse nivel de enfoque geral da disposio
dos setores, no necessrio express-Ia, no desenho, com aforma
definida do edifcio nemcom seus valores dimensionais contidos no
pr-dimensionamento. A disposio dos setores nest~. plano uma
primeira tentativa de orden-los e de ordenar a:, IdeIas. Busca-se,
essencialmente nela, a diretriz geral da ocupaao do terreno pelo
edifcio, com base nos setores.
Para aclarar o modo de proceder nessa especulao, tomemos
alguns exemplos.
Exemplo 1:
.A casa de veraneio citada na etapa anterior. Desenham-se sobre
a planta (rever planta do grfico 1, pgina 82) algumas hipteses,
as mais intuitivas, de como dispor os setores do programa da casa
(v-los pgina 28) no terreno
No croquis 6, pgina 144 esto desenhadas quatro dessas
hipoteses. Ubserve que, nessas hipteses, algumas dec,soes de pro-
jeto j esto implicitas como adotadas. Uma a da disposio de
142
I--
I
todos os setores no plano horizontal, isto , no mesmo pavimento no
pavimen,to trreo, levando-se emconsiderao que o terreno pl~no.
A outra e aquela emque se priorizam os setores com relao s orien-
taes quanto ao sol e aos ventos dominantes (as melhores so SE E
e NE) de modo que o primeiro, em ordem de preferncia para 'as
orientaes, o setor ntimo; o segundo o setor social e o terceiro
o setor servio. Priorizam-se os setores pelas finalidades de suas
funes. Uma outra deciso adotada a de ligarem-se os setores
entre. si, em qualquer das hipteses, para manter as relaes fun-
Cionais estabelecidas no programa.
Observa-se nesse croquis 6, que as hipteses esto desenhadas
semse importar com aescala da planta eaforma eas dimenses dos
seto,res. O que est importando ai so as posies com relao s
varlavelS consideradas. Faamos agora a anlise de cada hiptese.
. Na hip~tese 1, as idias da disposio so as seguintes: quanto
as orlentaoes (sol e ventos) dispe o setor intimo para o NE, o setor
social para SE e o setor servio para o 50, escolhendo-se as melho-
res orientaes para os setores prioritrios. Quanto aos acessos, eles
sero feitos pela rua A, a principal, para ligar os setores social e ser-
vio onde existem os elementos de ligao do programa. As variveis
da forma e das dimenses do terreno e da legislao pertinente no
foram cogitadas ai porque no se incluiram ainda os raciocinios da
forma e das dimenses do edifcio. Sabemos que a rea de constru-
o, tirada do pr-dimensionamento, de 261,50m2 e rea do terre-
no, registrada na planta, de 432,OOm2, sendo essa dimenso com-
patvel com a idia de partido para ser disposto num nico pavimen-
to. A conformao do revelo no impe restries por ser o terreno
plano.
Na hiptese 2, a disposio diferencia-se da primeira pela inver-
so das posies dos setores ntimo e social. O setor social fica na
orentao NE e o setor ntimo fica no SE. Essa inverso implica na
mudana do acesso social e do setor social para a rua B e o setor
intimo voltado para a rua A e a praa. Com relao s demais vari-
veis fisicas fica tudo inalterado, como na hiptese anterior.
Na hiptese 3, as idias da disposio so as seguintes: Quanto
s orientaes, (sol e ventos) os setores social e intimo esto dispos-
tos para SE eo setor servio para o NO. Quanto aos acessos, o setor
social se liga rua A e o setor servio se liga rua B. As demais va-
riveis permanecem inalteradas.
Na hiPtese 4, a disposio diferencia-se da terceira pela inver-
so das posies dos trs setores. O setor social volta-se para a
orientao 50e o setor servio para o SE. O acesso social ser feito
pela rua B e o de servio pela rua A. As demais variveis ficam inal-
teradas como nas hipteses anteriores.
143
f
!
I .
I
CROOUIS 6
D\SF'OS:ES S SEToRES DA CASA DE VERANEIO NO TERRENO ESCOLHIDO
Do exposto, d para perceber que possvel especular com um ,
'elenco maior do que o dessas quatro hipteses de disposio dos
setores do programa. Ficaremos apenas nessas, para nossa exempli-
ficao,
Continuando o racocnio das disposies, podemos tirar algu-
mas indicaes gerais delas, Das hipteses analisadas, percebe-se
que as trs primeiras podem atender satisfatoriamente aos requisitos
das variveis envolvidas. Na quarta hiptese, os setores intimo e ser-
vio invertem as. prioridades estabelecidas quanto s orientaes. A
questo , pois, de como optar pela melhor disposio, A opo
requer a ihtroduo de outras variveis e de decises de projeto ain-
da no cogitadas, nos raciocinios dessas hipteses. Se se admitir ser
importante voltar o setor social para a rua, principal e a praa cont-
gua, as hipteses 1e 3 ievam vantagem, uma vez que, na hiptese 2,
o setor inlimo que est voltado para esse lado, Adicionaimente, se
prevalecer a deciso de fazer os acessos por umlado s, a hiptese 1
a mais recomendvel, porque nela os acessos social e de servio
esto previstos para ligar rua A. No caso dos acessos serem dife-
renciados, umem cada lado, as hipteses 2e3so as mais recomen-
dveis, ao contrrio da hiptese 1.
A deciso da escolha da disposio dos setores da casa de vera-
neio pode no ser feita aps esta especulao de hipteses, mas
aps outras anlises com outras variveis que vo fortalecer com
novas decises qual das das disposies tem maiores vantagens
sobre as outras.
SOaR SOCIAL
SETOR INTIMO
PRAA _
N
'\
RU" A
RUA li
HIPTESE 2
PRAA
N
\
!lU'" A
RUA ti
HIPOTESE I
Exemplo 2:
O da igreja catlica, 'tambm cogitado na etapa anterior, fazer o
raciocnio da disposio dos setnres no terreno desenhado sobre a
planta (ver o grfico 2 pgina 83) algumas hipteses, tambm as
mais intuitivas, de como dispor os setores do programa da igreja (v-
lo pgina 62) no terreno,
No croquis 7, pgina 146, esto desenhadas quatro hipteses.
Nessas hipteses, esto, tambm, j implicitas, algumas decises de
projeto, A disposio dos setores no mesmo pavimento uma delas e
a priorizao dos setores com relao s orientaes quanto ao sol e
aos ventos dominantes, A melhor orientao dever ser, de prefern-
cia, para o setor culto, A segunda preferncia, para o setor administra-
tivo e a tergli ra, para o setor servio, Essapriorizao decorre do racio-
cnio de. que devem ter prioridade de melhor orientao os setores
que tenham mais cmodos de permanncia prolongada que os de per-
manncia eventual e os de maior concentrao de clientela. As possi-
bilidades de ligaes dos setores entre si para manter as relaes
SUOR SERViO
,._-_.
I
I PRAA
RUA A ~. __ J
5E1R Sf.'RVIO
RUA 8
HIPTESE 4
SETOR INTlhl0
PRAA
St:i0R srCII\L
! l UA "
RUA 8
HIPOTESE 3
se. T~h
::1',',11':.
145
.-~_ .
.-_.-
CROQUIS 8
CROQUIS 7
D1SPOSICO DOS SETORES DA IGREJ A CATOUCA NO TERRENO ESCOLHIDO.
DISPOSIC1l0 DOS SETORES COM SUAS DIMENSES DA_CASA DE VERANEIO
HIPTESE HOPOTESE 2
HIPOTESE
HIPOTESE 2
IIUA 8
SE10R
SERViO
O
IIUA A
~I'"
~-
- S~R SOCI
-
- SETOR lrmM
SETOR
RVIO
I
PRAA
TlMO
L
_."._.~F
N
f\
SETOR IN
-
SETOR saCiA
E~~
::::-. VIO
-
PRAA
S
SER
SETOR
DE CULTO
SETOR /
AO"'",STRAnvO / /
~ -----
----
---- SETOR DE CULTO
HIPTESE :5 HIPOTESE 4
IIlUA IIlUA ,
SETOR SERViO
SETOR SOCIAL
N
I
I
TOR
I
O
I I
oelAl
NTIMO
N
f\
SETOR SETOR i
RVICO
SETOR S
I
/1
PRA
IIlUA A
SEiOR SERVICO
SETOR DE a.J lTO
SETOR TRA"'" /
AO"<N"~
HIPTESE 3 HIPOTESE 4
\
\
N
N
SE
SETOR DE CULTO
ESCALA GRiFIC,"
O '2 3~~61'e \110.
,
\.:::- .
CltOQUIS
Dls'OSIClo DOS SETORES DA IGREJA COM SUAS DIMENSES
HIPTESE :3
I
I
149
-",_funcionais estabelecidas no programa devem ocorrer em qualquer
;~.hiptese.
As idias de disposio, na hiptese 1, so as seguintes: Quanto
. s orientaes 1501 e ventos), dispe-se o setor culto para o NE, o
setor administrativo para o SE e o setor servio para SO, Mantm-se
assim as melhores orientaes para os setores prioritrios. Os aces-
_sos sero pela Avenida Praia de I tapo, que a principal, para ligar
os setores culto e servio, onde existem os elementos de ligao ede
acessos do programa. No se cogitaram a as questes relativas s
variveis da forma e dimenses do terreno e da legislao pertinente,
porque no se raciocinou ainda a forma e as dimenses do edifcio.
Como a rea de construo tirada do pr-dimensionamento de
580,OOm2e a rea do terreno de 2.000,OOm
2
,essas dimenses so
compatveis com a idia de partido para ser disposta num nico
pavimento. A conformao do relevo no impe restries por ser o
terreno plano.
As idias de disposio da hiptese 2diferenciam-se da primeira
pela inverso das posies dos setores culto eadministrativo. Osetor
culto na orientao SE e o setor administrativo fica o NE. Essa inver-
so implica na mudana do acesso principal do setor culto para a rua
Praia das Amoreiras e o acesso para o setor administrativo voltado
para a Avenda Praia de I tapo. Com relao s demais variveis fsi-
cas, fica tudo inalterado como na hiptese anterior.
As idias da disposio, na hiptese 3, so as seguintes: Quanto
s orientaes (sol e ventos) dispe-se o setor culto na direo L,
tendo em vista que o terreno est numa esquina e esta disposio
pode aproveitar simultaneamente as orientaes NE e SE. O setor
servio est voltado para o SE e o setor administrativo para NE.
Quanto aos acessos, eles se distribuiro em ambas as ruas. As de-
mais variveis fsicas continuam inalteradas.
As idias da disposio, na hiptese 4, diferenciam-se da terceira
pela inverso das posies dos setores administrativo e servio. O
setor servio fica na orientao NE eo setor administrativo no SE. Os
acessos a esses setores tambm se invertem com relao s ruas. As
demais variveis ficam inalteradas como nas hipteses anteriores.
Neste exemplo, tambm possvel especular com um elenco
bem maior de hipteses do que o dessas quatro disposies dos
setores do programa da igreja. Tambm neste caso ficaremos apenas
nessas quatro hipteses.
Com base-nas variveis analisadas nessas quatro hipteses, fica
dificil dizer qual delas atende melhor aos requisitos do tema_A ques-
to aqui tambm de como optar pela melhor disposio. A adoo
requer, pois, a introduo de outras variveis e de decises de proje-
to que no foram cogitadas ainda para completar os racioclnios das
. :~-~.-
te;.":-'
SETOR SERViO
SETOR SERViO
SETOR ADMltJ 5TRATI VO
ESCALA GRfiCA
OS ,e 20 '1O",
_ =-===::J
13%
HIPOTESE 2
H1POTESE 4
--~--
SETOR CULTO
--------
~----- SETOR
___ --- ADMI NI STRATI VO
SETOR CULTO
SETOR
ADMI NI STRATI VO
HIPOTESE I
SUOR SERViO
hipteses. Admitindo-se ser importante o setor culto ficar voltado
para a rua principal, a hiptese 1 a mais indicada., Se prevalecer a
idia do acesso principal ficar na rua lateral (Praia de Amoreiras) a
hiptese 2 a melhor. Se a idia dominante for-ade dispor o acesso
principal de modo que de qualquer das ruas pode-se chegar a ele,
situado na esquina, por exemplo, as hipteses 3 e 4 apresentam-se
como as melhores. Quanto s orientaes, as hipteses 3e4tambm
apresentam vantagens sobre as outras.
Perceba que a adoo do partido uma trajetria percorrida em
direo sntese arquitetnica, usando um processo de aprimora-
mento constante das idias.
Exerccios teis sobre a disposio dos setores:
1 - Desenhe algumas hipteses de disposio de setores da
escola de 1~grau;
2- Desenhe algumas hipteses de disposio de setores de pro-
grama arquitetnico e terreno conhecidos;
3 - Analise a disposio de setores de projetos conhecidos;
4 - Imagine a disposio de setores de edifcios conhecidos com
razes que a justifiquem.
8.3 - Disposio e dimenses dos setores
Introduza as relaes dimensionais do programa nos raciocnios
sobre a disposio de setore's no terreno. As dimenses utilizadas
para esses raciocinios so as das reas de construo dos setores.
As relaes a serem observadas so as decorrentes das propores
de reas entre os setores e as da soma dessas reas com relao
rea do terreno, A rea de construo de cada setor representa a
dimenso a ser ocupada por ele no terreno e vai influir nas idias da
disposio. A soma das reas de construo dos setores a dimen-
so global da ocupao e vai influir nas idias do modo de dispor o
edifcio no terreno e de sua forma.
Desenhe na planta e na escala as hipteses de disposio dos
setores com as propores equivalentes s suas reas de construo
contidas no pr-dimensionamento. Para realizar esses desenhos,
necessrio estabelecer formas para os setores os quais devemconter
essas reas. E bomespecular sobre s diversas formas. Nesses dese-
nhos, o mais importante a ser feito a anlise das relaes entre os
setores e destes com o terreno. Ademais, a forma do edifcio pode
nascer da e certamente evoluir com a introduo nos raciocnios
dimensionais de outras consideraes relativas a aspectos formais.
Vejamos alguns exemplos.
150
Exemplo 1:
A casa de veraneio. Do pr-dimensionamento feito, tomem.se as
'-'.-- reas de construo dos setores e seu total.
O setor social de 136,5m
2
O setor ntimo de 57,Om
2
O setor servio de 67,Om
2
O total de 261,5m
2
A primeira observao dessas reas permite perceber que os
setores ntimo e servio tm dimenses prximas. A grosso modo,
pode-se dizer que as reas desses setores esto variando umpouc.o,
em torno de 5,Om2, com relao mdia que fca nos 62,Om
2
, nao
significando muita diferena. J o setor social tem rea perto do
dobro dessa mdia. A comparao serve para mostrar que as rela-
es dimensionais dos setores so as de trs componentes dos quais
dois so aproximadamente iguais e umo dobro desses. Logo, adis-
posio dos setores no terreno ser feita com base nessas relaes.
Fazendo isso, estar-se-o dispondo as reas necessrias aos elemen.
tos do programa contidos nesses setores. Vale lembrar aqui a obser-
vao feita no clculo do pr-dimensionamento de que essas reas
podem alterar-se um pouco quando alguma razo justificar. Neste
caso a possibilidade de se trabalhar com dimenses mltiplas justi-
fica a alterao,. porque permitir modular a estrutura e outros com-
ponentes do edificio, facilitando procedimentos tecnolgicos da
construo.
Observadas as caractersticas dimensionais dos setores, cabe
aQora especular suas formas e propores e desenh-Ias. No croquis
8, pgina 147, esto desenhadas as quatro hipteses de disposio
dos setores com suas respectivas dimenses mantendo nelas as
idias iniciais de ocupao no terreno. As formas retangulares de-
senhadas contm as reas de construo dos setores. Uma dessas
hipteses pode ser a opo para prosseguir nas especulaes sobre
a adoo do partido. Adotada uma, ela ser a base dos raciocinios de
disposio dos elementos do programa no terreno.
Exemplo 2:
A igreja. Do pr-dimensionamento feito tomam-se as reas de
construo dos setores e seu total.
O setor culto de 361,Om
2
O setor administrativo de 188,Om
2
O setor.servio de 31,Om
2
O total de 580,Om
2
A observao dessas reas permite perceber as grandes diferen-
as entre elas. O setor culto, com uma grande rea em relao aos
outros. Outro, o setor administrativo, quase metade daquele. E o ter-
151
;
j
c(;.!iro,pequeno emrelao aos outros, quase insignificante com rela-
ao ao primeiro, visto que, onze vezes menor. Essas propores fazem
do setor culto o preponderante do conjunto e o que vai influir decisiva-
mente na disposio e nos compromissos no plano horizontal (planta
baixa) da forma do edifcio. Neste caso, tambm possvel raciocinar
a disposio do edifcio no terreno com modulao estrutural visto
que, admitindo a unidade modular de 30,OOm
2
para o setor servio, o
setor administrativo ter seis mdulos e o setor culto ter doze As
diferenas das reas, com essa modulao, comparadas com a~do
pre-dimensionamento so pequenas e, pode-se dizer, insignificantes
para o raCIOClnlOa ser feito.
Observadas essas primeiras caractersticas dimensionais' dos
setores que do as idias das relaes entre eles e do seu conjunto,
cabe agora especular suas formas e propores e desenh-Ias. Nes-
sas especulaes, admite-se a disposio do edificio em um pavi-
mento.
No croquis 9, pgina 148, esto desenhadas as quatro hipte-
ses de disposio dos setores comas suas respectivas dimenses. As
formas escolhidas foram o quadrado e retngulos, embora nesse
caso pudesse ter sido qualquer outra, porque aforma eas dimenses
do terreno no exercem grande influncia na forma da disposio.
Uma delas pode perfeitamente ser a base dos raciocnios a serem
desenvolvidos para a especulao sobre a disposio dos elementos
do programa, no terreno, indispensvel para a expresso do partido
em planta baixa. Inmeras outras especulaes dessas podem ser
feitas quando se mudam as formas dos setores.
Exerccios teis sobre a disposiO e dimenses dos setorss:
1- Desenhe outras hipteses de disposio jos setores comsuas
dimenses e formas diferentes do exemplo da casa de veraneio.
2 - Desenhe outras hipteses de disposio dos setores com
suas dimenses e formas diferentes do exemplo da igreja.
3 - Desenhe outras hipteses de disposio dos setores com
suas dimenses com relao escola do 1~grau.
4 - Desenhe outras hipteses de disposio dos setores com
suas dimenses e formas diferentes para tema conhecido.
5 - Desenhe hipteses de disposio dos setores com suas di-
menses, dos exemplos citados acima, com alterao na deciso
sobre o nmero de pavimentos.
8.4 - Elementos de ligao
. Verifique quais so os elementos de ligao, qual sua importn-
152
---.-" ::= --= -.
cia e o papel que eles exercem no programa arquitetnico.
O elemento de ligao o elemento do programa que tema fina'
lidad.e de ligar os setores entre si ou dois ou mais elementos do
setor, articulando as relaes funcionais de segundo grau.
Quando se especulam as idias sobre a disposio dos setores
no terreno e a disposio dos elementos do programa nos planos dos
p~vimentos, nece.ssrio identificar os principais elementos de liga-
ao previstos ou nao no programa e raciocinar comeles. Esses ele-
mentos 10mam importncia no processo de adoo do partido e suas
posies no terreno e no edifcio devem ser estudadas como situa-
es estratgicas que visamotimizar a distribuio das funes edos
setores.
Os elementos de ligao podem estar incluidos na listagem do
programa ou no. Quando j esto programados e sua funco de
ligao j est definida, fcil perceb-los e raciocinar comeles. H
elementos de ligao que so difceis de previso no programa. S
surgem em decorrncia da disposio dos elementos do programa
nos planos dos pavimentos para resolver melhor relaes de funes
de segundo grau desses elementos, ficando eles de fora da listagem.
No pre.dlmenslonamento do edifcio, porm, possivel prever a rea
para esses elementos de ligao que no constam na listagem do
programa, arbitrando-se valor percentual calculado sobre a rea til
de cada setor, embutindo-se esses elementos na rea de construo
J untamente com a rea prevista para as paredes. Esse expediente
permite raciocinar-se o partido nos planos horizontais, considerando-
se o~valore: dimensionais dos setores e do total de construo,
InclUldas as areas dos elementos de ligao.
So vrios os tipos de elementos de ligao do programa. Nas
relaes funcionais de primeiro grau do programa, o elemento de
ligao expressa-se arquitetonicamente por uma porta ou um vo
aberto, que liga dois elementos diretamente semnenhum outro entre
eles. Neste caso, a porta, ou o vo aberto, o elemento que permite a
circulao ou a ligao entre eles, o que a funo primordial do
elemento de ligao. Nas relaes funcionais de segundo grau do
programa; a circulao o elo de ligao entre dois ou mais elemen-
tos e toma diversas formas de expresso arquitetnica, tais como os
denominados: hal!, circulao, corredor e patamar, todos contidos
n:,s planos horizontais. Nessas relaes h outros elementos de Iiga-
ao, denominados de escada, rampa e elevador que servem para
ligar os pavimentos e se relacionam com os planos verticais.
Oelemento de ligao importante articulador dos setores edos
elementos do programa nas disposies nos planos horizontais e
verticais e entre eles.
No programa arquitetn,ico, h outros elementos previstos, alm
153
I
flUA 11
STtlR S(RVIO
ESCALA GRFlCA
OI23~S", 10.
SETOR SOCI"L
PRAA
ELEMENTO DE lIGACO ENTRE OS SETOFlES
SOCIAL E fNT1MO
ELEMENTO DE lIGACO ENTRE OS SETORES
SOCiAL E SERViO
!tUA A
H1PO'TESE I
HI PTESE 3
CROQUIS 10
B J OlsPOSllo DE ELEMENTO DE UGAlo 00 PROGRAMA DA IGREJ A
A I 01SPOSI.lO DOS ELEMENTOS DE L1GAlo 00 PROGRAMA DA CASA DE VERANEIO
. dos j citados, que tm funes de ligao com setores e elementos
e tm ao mesmo tempo outras funes. Dentre eles podemos citar os
principais, os quais so denominados de hall de entrada, ptio de
entrada (da igreja como exemplo), vestibulo e recreio coberto (da
escola do 1~grau).
Nos edifcios de dois ou mais pavimentos, a articulao da cir-
culao vertical com os elementos principais de ligao e acessos
horizontais passa a ter importncia fundamental na disposio dos
setores. E de suas posies estratgicas nos planos horizontais ever-
ticais, dependem as disposies dos demais elementos e as boas rela-
oes funcionais do programa. So inumeros os casos de adoo de
partido emque a disposio dos setores e dos elementos do progra-
ma no terreno e nos pavimentos do edificio devem comear pelo
raciocinio dessas articulaes com os elementos de ligao. bom
lembrar aqui que a articulao das circulaes nos planos horizon-
tais e verticais pode, adicionalmente, estar relacionada com as exi-
gncias de fluxos de pessoas e de veculos, almdas exigncias fun-
cionais, o que torna, nesses casos, a escolha da localizao do ele-
mento de ligao, tanto no terreno quanto no edifcio, uma opo de
grande importncia na adoo do partido, que faz dessa articulao
uma das idias dominantes do elenco das decises de projeto.
No processo de adoo do partido, importante raciocinar sobre
os elementos de ligao, o papel de articulao que eles tme a dis-
posio deles no terreno e no edifcio.
Faamos algumas consideraes sobre os elementos de ligao
do programa e suas articulaes com exemplos para esclarecer e
fixar a compreenso deles e sua importncia no partido.
ESCALA GRAFitA
ELEMENTO DE LIGAO ENTRE OS
SETORES CULTO, ADMINISTRATtVO E
SERViO
OSlO 20 CO'"
SETOR It.OM!NISTRAnvo
Exemplo 1:
A casa de veraneio. Ela requer pelo menos dois elementos de
ligao. Um, para ligar os setores intimo e social, e outro, para ligar
os setores social eservio. Esses elementos no constam nalistagem
do programa, mas suas reas esto embutidas narea de construo
desses setores no pr-dimensionamento. Admitamos que a soluo
arquitetnica para eles possa fazer-se com dois pequenos halls.
Admitamos tambm que uma das idias dominantes do partido ado-
tado para a casa seja a de evitar o uso de corredor, resolvendo-se as
articulaes entre setores com halls. O croquis 10, pgina 155,
(item A) ilustra os elementos de ligao na disposio dos setores
adotada na hiptese 1 do croquis 8. Admitida a disposio da casa
emdois pavimentos, o elemento de ligao dos setores social eservi-
o, alm da articulao que faz, servir tambm como elemento de
ligao do acesso vertical entre os pavimentos. Esse elemento est
154
ligando .sala de estar, do setor social e rea de servio, do setor ser-
vio. O outro hall liga sala de estar e quartos do setor ntimo.
Exemplo 2:
A igreja. Ela requer, pelo menos, um elemento de ligao, que
articule simultaneamente os trs setores: culto, administrativo e ser-
vio. Esse elemento no consta na listagem do programa. A rea des-
tinada aele, contudo, est includa no clculo da rea de construo
do pr-dimensionamento. Provavelmente a soluo arquitetnica a
ser adotada para esse elemento de ligao, que articular os trs
setores, ser um corredor, tendo emvista o nmero grande de ele-
mentos do programa que precisam de ligao. A idia dominante da
disposio, neste caso, a de que a circulao entre os setores este-
ja articulada com o acesso ou acessos de pblico (o hall de entrada
previsto no programa). O croquis 10, pgina 155, (item b), mostra
tambm a disposio do elemento de ligao dos setores feita com
base na hiptese 3. do croquis 9.
Exerccios teis sobre os elementos de ligao:
1- Identifique os elementos de ligao que deve ter o partido da
escola do 1~grau, com base na observao do seu programa.
2- Identifique os elementos de ligao que deve ter o partido de
tema conhecido, observado o seu programa.
3 - Analise projetos conhecidos e verifique os elementos de
ligao existentes nos planos horizontais esuas articulaes comos
planos verticais.
4 - Analise edificio conhecido e verifique a disposio dos ele-
mentos de ligao no plano horizontal e suas articulaes com os
elementos do plano vertical.
8.5 - Disposio dos elementos do programa
Disponha os elementos do programa, dando-lhes forma e dimen-
ses, no plano do pavimento onde vo ficar, emconformidade coma
hiptese adotada de disposio dos setores e consolide no plano hori- .
zontal a idia do partido. Essa disposio, que na linguagem arquite-
tnica denomimda de planta baixa, o arranjo dos elementos se-
gundo um ordenamento que busca otimizar as diversas exigncias e
influncias das variveis bsicas com as idias de adoo do partido.
As idias sobre a disposio dos elementos do programa estaro
condicionadas, primeiramente, disposio dos setores, pois esta,
ao constituir-se no raciocnio geral, conter emsi os respectivos ele-
mentos do programa. Dos setores, estaro tambm envolvidos no
156
raciocnio suas formas e dimenses, as quais se vo aprimorar com
as disposies dos elementos. Nesse raciocnio h elementos que
podem assumir a condio de idia dominante e condicionar adispo-
sio dos demais. Est envolvida ai a deciso quanto ao nmero de
pavimentos e aseleo dos elementos que se disporo emcada pavi-
mento. Envolve as relaes do programa porque as posies dos ele-
mentos devem atender s exigncias de afinidade e aproximao
funcional de cada um com os demais. Envolve as prioridades de
orientao quanto ao sol e aos ventos, tendo emvista as caracters-
ticas de uso, permanentes ou eventuais, dos elementos do programa.
Envolve as exigncias de fluxos para o edificio eseu interior, tanto as
relacionadas coma clientela, quanto as que dizem respeito aobjetos
e veiculos, com os elementos que tm funo polarizante de fluxo.
Envolve, por outro lado, a introduo de variveis ainda no cogita-
das, como a das circulaes horizontais e verticais, suas formas e
dimenses, as quais serviro de elementos de ligao entre os seto-
res e entre os elementos do programa. Outra varivel aser introduzi-
da no raciocnio a de ordem estrutural (o sistema, a modulao, o
vo livre, etc.) que deve nascer conjugada com as idias de disposi-
o. Envolve os raciocnios de forma do edificio, no s no plano
horizontal, expresso na planta baixa, como tambm o reflexo dela no
plano vertical. aser.posto nos cortes efachadas. Quando se concebe
a planta 'baixa, esto se adotando compromiSsos de volumetria do edi-
fcio, devendo-se atinar para dispor os elementos do programa, visan-
do obter o volume desejado.
Faa aespeculao sobre a disposio dos elementos do progra-
ma, tomando uma das hipteses de disposio dos setores, aquela
escolhida como a que m~is atende ao conjunto das influncias das
variveis e das idias bsicas de partido.
Para exemplificar sobre essa especulao, usemos os casos
citados.
Exemplo 1:
A casa de veraneio. Tomemos a hiptese 1do croquis 8, pgina
147, admitindo que esta seja a que atende melhor. Admitamos que
ela deva ter dois pavimentos, emvista das razes que justificam essa
deciso. j expostas no item 8.1, do nmero de pavimentos, a partir
da pgina 137. So basicamente trs as razes principais: a vista
para o mar, que est prximo, a segurana para os veranistas da casa
e a ocup<l\:o minima do terreno, para permitir a maior rea dispon-
vel no pavimento trreo. Essas so as idias dominantes da adoo
do partido.
Com esse conjunto de variveis interferentes, cabe decidir que
setores e que elementos do programa ficaro situados emcadapavi-
157
l
mento. Admitamos dispor os trs setores no pavimento superior,
tendo em vista, alm das razes j-consideradas, que o setor social
_ varanda, sala de estar e sala de jantar - possam situar-se emcota
de nvel capaz de permitir ao habitante visualizar o mar tambm
desses ambientes, alm do setor intimo. Essa deciso implica tam-
bm em dispor o setor servio ou parte dele no pavimento superior.
Observe que a hiptese 1, escolhida dentre as disposies dos seta-
res, aplica-se a esse conjunto de variveis e decises, cabendo ento
fazer a opo de quais elementos do programa sero dispostos no
pavimento trreo. Neste caso, o trreo ter funes sociais: de aces-
so, de circulao entre os planos horizontal e vertical, e de lazer
(parte da varanda se transforma em play-ground para diversas ativi-
dades sociais); dispe-se tambm o bar e sanitrio social embaixo.
Tambm ~er funes de servio (copa e garagem).
Concebidas todas as decises de projeto possveis para o racio-
cnio da disposio dos elementos do programa, s resta express-Ia
na linguagem adequada, do desenho, fazendo uma ou mais hipte-
ses, O suficiente para disp-los num conjunto. No croquis 11, pgi-
na 160, est desenhada a disposio dos elementos do programa nos
dois pavimentos, uma das inmeras hipteses possveis, atendendo a
todos os requisitos preestabeleci<:i0s.
Observe, na planta do pavimento superior, a correspondncia da
disposio dos setores com a hiptese 1 do. grf!c0.8 e a dispo~io.
dos elementos do programa, conforme as influenCias das vanavels'
fsicas (forma- e d'imensoes do terreno, relevo, orientao quanto ao .
sol e ventos, acessos, legislao pertfnent e relao com o entornor;
conforme as decises conceituais (conceito do tema, caractersticas
e funes da clientela, relaes do programa e pr-dimensionamento).
A forma do edifcio est aprimorada anteriormente. Foramassinalados
os pilares para indicar a concepo do sistema estrutural no plano
horizontal, casando sua posio coma disposio da forma, e indicada
a projeo da cobertura como raciocnio feito de sua disposio e ade-
quao forma da planta. No desenho, h outras indicaes comple-
mentares das idas dominantes, como, a indicao das paredes, das
envasaduras, armrios, instalaes sanitrias, equipamentos da
cozinha, circulao vertical, etc. No desenho do pavimento trreo
est a disposio dos elementos desse pavimento com suas dimen-
ses e forma, a circulao vertical, os pilares da estrutura, a projeo
do perfil do pavimento superior para situ-lo neste pavimento, as
relaes do edifcio com o terreno e algumas outras indicaes com-
plementares (acesso, estacionamento, rea de urbanizao, etc.).
Neste nvel da sntese arquitetnica, embora parcial da viso tri-
dimensional, inmeras so as decises de projeto j tomadas, tanto
158
no que se refere as idias domnantes, quanto s demais idas com-
plementares e o elenco das opes j descartadas.
Exemplo 2:
O da greja catlica. Adotemos, no s uma das hipteses anali-
sadas, mas as hipteses 3 e 4 do croqus 9, 'pgina 148, admitindo
que estas sejam as disposies que atendem melhor s exigncias
bsicas. Tendo em vista a situao do terreno ser de esquina, o que
propcia umtipo de disposio bilateral. vamos optar pela idia domi-
nante de fundir essas hipteses consideradas, 3 e 4, numa outra que
contemple as disposies dos elementos do programa nos dois lados
das ruas. Mantenhamos o setor culto na posio desenhada nessas
hipteses e distribuamos os setores administrativo e servio bilateral-
mente, parte de um lado e parte do outro lado do setor culto, ao
invs das posies deles num lado s, como esto nessas hipteses.
Essa alternativa escolhida, permite manter as exigncias bsicas e ao
mesmo tempo criar acessos, um em cada rua, para a secretaria de
um lado e para o salo paroquial do outro. Tomadas essas decises
sobre a disposio dos elementos do programa, resta express-Ia na
linguagem adequada. No croquis 12, pgina 161, est desenhada
essa disposio, que toma a forma de planta baixa, podendo-se e-
senhar outras hipteses para ajudar a anlise critica, posto que, para
as mesmas exigncias bsicas, possivel imaginar uma variedade de
disposies. Nesta hiptese desenhada, a nave da igreja, que o ele-
mento dominante do programa, dispe-se na diagonal do terreno, em
direo esquina das ruas, para ser mais visualizada de fora e para
permitir a distribuio bilateral dos demais elementos. Essa disposi-
o atende a todas as exigncias bsicas e as decises de pr.jeto
analisadas anteriormente e, alm disso, nela esto indicadas as idias.
referentes modulao e imaginado o sistema estrutural com o uso
de prticos. Est definida a forma do edifcio no plano horizontal e
pensado o tipo de cobertura e da telha a ser usada. Ai, tambm, esto
indcadas inmeras outras decises.
Exerccios teis sobre a disposiO dos elementos do programa:
1- Desenhe algumas hipteses de disposio dos elementos do
programa da escola de 1 grau.
.2- Desenhe algumas hipteses de disposio dos elementos do
programa em terreno conhecido.
3 - Analise a disposio dos elementos do programa de projeto
conhecido.
4 - Imagine outras formas de disposio dos elementos do pro-
grama de edifcios conhecidos com razes que as justifiquem.
159
j
CROQUIS 11
DISPOSIO 005 ElEhlENTOS
DO PROGRANA OA CASA
DE VERANEIO
CROQUIS 12
DISPOSICO OOS ELEMENTOS 60 PROGRAMA DA IGREJA
I
j
.- ._--------~-----------
.\-
1,"-'0-
..~~~
,.
O "~,AY(.~ow"~: A~C:'"
'.<''''.-1''-<'
I!~C"'\.."C.l.:.":'FtC>\'
W 1....u~.'.
<i l
SUPERIOR
S~TO' t
2
\,f-1-
. ...
,
PAVIMENTO
L ./1
i
I ----.----- ..,!
.,1
1
8.6 - Situao no terreno
" , " " , -
J .- '-~~"-:;:-'-~
- , . ; - - : . - : : ; ; . : : ; ; ; , - - :
C"OQU1S 13
DISI'OIIO DA SITUA. O NO TERRENO, DA CASA DE VERANEIO E DA IGREJ A
1:.1UA. 'PRAIA. DE lTAPo
<
o
d
~IU: A tiO "!'R. g, . t: "'O'. : 2. 000
2
~: UA DE CONS. TR. U~"O: 62T . 1.
TA'ltA DE" OC\J l'A~. to:M, ~~
ESCALA G" nCI<:
~~ 1~m 20~
l: sc. . . \- C. t: : l=lC, l. ,
o . , 2. ~~ , , _ , 0__
, t ,
A'fl.Ut>OT. l: IU.ENO:.420
2
""I>. 'AOE"COIJ ST~UC; ; ; O; I"!. O_2
T"'XA til!" OCUPA'ik>: !>?". ~"
1. . 0TE 1'<.
E" STACIO~AHENTO
40. 00 .
I f l i , .
IDe <
!/ ! ~
<
,
"
PI; lA- A
b) PLANTA DE SITUAO DA IGREJ A
"
"
,
"
a) PLANTA DE SITUO DA CASA
Idealize a disposio do edifcio no terreno, ou no plano da rua,
indicando as relaes mais gerais existentes entre eles, as que dizem
respeito ao modo como o edifcio ocupa o terreno e as diversas im-
plicaes decorrentes. Essas reiaes devem estar implcitas nos
outros planos horizontais da idealizao do partido e explcitas no
plano da situao, desenhada na escala 1:200. Nela. a situao do
edifcio representada pela projeo vertical do perfil do plano dOf
pavimentos sobre a planta do terreno, indicando a idia da forma e
das dimenses desse perfil.
A situao do edifcio no terreno est relacionada intimamente
com as idias das disposies dos setores e dos elementos do pro-
grama. Essas disposies so idealizadas sobre a planta do terreno e
a situao reflete as idias de ocupao do terreno expressas nessas
disposies. Conseqentemente, expressa a idia da forma planim-
trica do edifcio, a qual pode ter sido influenciada pela forma do ter-
reno. Reflete as relaes dimensionais entre edificio eterreno. Refle-
te as restries estabelecidas pela legislao pertinente com relao
ocupao e ao uso do terreno (taxa de ocupao, recuos...).
A situao do edifcio no terreno deve expressar, tambm, as
idias sobre o modo de dispor os acessos de veculos e pedestres,
indcando as vias (rua, caminho ...) suas posies edimenses, da via
pblca ao terreno e, no terreno, at o edifcio. Deve constar a idia
de disposio do estacionamento para veculos (forma e dimenses),
quando houver. Deve constar o uso dado s reas disponveis, repre-
sentando a idia sumria do revestimento florstico (jardim, rea ver-
de, arborizao ...). Deve constar tambm a idia de alterao do rele-
vo, quando houver, para expressar aacomodao entre o terreno eo
edifcio. Conter tambm, de modo sumrio, a idia do telhado e de
suas guas, indicando sua forma e dimenses.
A planta de situao a que tem, basicamente, o desenho da
projeo vertical do edifcio e o terreno. Ocroquis 13, pgina 163,
mostra a representao das plantas de situao da casa de veraneio
e da igreja. Nelas esto desenhadas as plantas dos terrenos com as
informaes bsicas deles. Est indicada a disposio do edifcio
sobre o terreno, visto pela projeo vertical, mostrando as relaes
de forma e dimenses entre eles, o terreno e o edifcio, os acessos
nas suas posies com forma e dimenses, os estacionamentos, a
concepo das guas do telhado e as informaes pertinentes (recuos,
rea ocupada pelo edifcio e a taxa de ocupao).
Observe, na planta de situao da casa, algumas idias dominan-
tes sobre a ocupao do terreno. Os grandes recuos da casa com
relao s ruas para obter maior tranqilidade interior. Adisposio
; ~. ~- -
162
j
da casa de modo a ficar solta dos limites do terreno, facilitando os
raciocnios sobre aforma do edifcio e aobteno de melhor disposi-
o dos setores e elementos do programa com relao s orienta-
es. Da planta de situao da igreja observa-se a idia dominante de
dispor o edifcio com recuos grandes, para colocar os estacionamen-
tos e jardins e deixar rea no terreno disponvel para, no futuro, dis-
por nele um centro comunitrio.
Exerccios teis sobre a situao no terreno:
1- Idealize a situao no terreno da escola do 1~grau com base.
emalgumas das hipteses de disposio dos elementos do programa
(planta baixa) exercitadas no item anterior.
2 - Idealize a situao no terreno de outro exemplo conhecido
de disposio dos elementos do programa sobre o terreno escolhido.
3- Analise a situao no terreno de projetos de edificios conhe-
cidos.
4 - Analise a situao no terreno de edificios conhecidos.
8.7 - Idia de cobertura
Idealize a cobertura do edificio e desenhe-a.
A cobertura a parte superior do edifcio, aque o cobre esedes-
tina basicamente a sua proteo. Protegendo-o dos agentes naturais
que provocam efeitos ambientais desconfortantes, tais como, os deri-
vados do calor, do frio, da chuva, do vento...
A cobertura tem tambm outras conotaes no edificio que no
somente a de proteo. Temas decorrentes de sua prpria natureza
e as de natureza esttica. Otipo da telha a ser usada, por exemplo,
um dado importante da cobertura. A capacidade da telha, maior ou
menor, de proteger o edificio dos efeitos criados por esses agentes
naturais outro dado importante. O tipo de telhado, que decorre da
telha escolhida e da disposio dele no edifcio, outro dado. O da
captao e escoamento da gua da chuva e da inclinao do telhado
requerida para atender a essa funo .outro. Oseu carter formal e
sua relao com a forma do edificio. Sua relao com o contedo
temtico, conceitual e funcional. Com a importncia ou no de sua
aparncia externa. At mesmo do significado da cobertura quando
no feita com telha.
A idia da cobertura pode edeve ser parte das cogitaes iniciais
do partido. E quanto mais cedo o projetista especular sobre a idia
da cobertura, melhor desenvolver a associao das idias nos pia-
nos horizontais e verticais e estar fazendo, desde logo, o raciocnio
tridimensional do edificio. A cobertura tem estreitas vinculaes de
ordem formal e tecnolgica com esse raciocnio.
164
. . A deciso sobre otipo da cobertura a ser usada, uma das mais
'. importantes decises de projeto, deve ser tomada, se possvel, antes
"do raciocnio das demais idias de adoo do partido. Quando isso
ocorre, o ajuste tridimensional das idias, comea ai. Quando no
ocorre assm, o ajuste feito posteriormente idia d planta, fato
comum no processo de adoo do partido. O importante obter a
sincronizao da idia do telhado com a da planta baixa, como tam-
bm a da forma do telhado com a da forma do edificio, do telhado
com a estrutura da sustentao e o sistema estrutural do edifcio. e
deste telhado com a disposio dos setores e dos elementos do
programa.
H exemplos de adoo do partido emque a idia da cobertura
no somente parte do elenco das decises de projeto, mas uma das
idias dominantes do projeto. Num tema arquitetnico como o de
mercado, onde as atividades e funes principais so expressas pela
disposio de prateleiras de mercadorias e balces de caixas no
espao do pavimento, cujo objetivo arquitetnico principal o de
obter o espao livre e coberto, duas decises dominam o processo
de adoo do partido: a das idias da estrutura e da cobertura. Esse
um caso tipico no qual a adoo do partido pode comear com a
idia da cobertura. Ela ser uma idia dominante e passaainfluir nos
ra'ciocnios das demais idias. Como esse, existem inmeros exem-
plos em que a cobertura o elemento principal do raciocnio do
partido.
Par outro lado, quando a idia da cobertura no faz parte das
cogitaes iniciais do partido, ela fica para aespeculao posterior
consolidao da idia da planta baixa e sua soluo requerer um
ajuste nos dois planos, para CaSaras solues imaginadas, as impli-
caes tcnicas da cobertura com os elementos de sustentao
postos na planta baixa. Bem como, pode ensejar, quando as idias
nos dois planos no se ajustam bem, o surgimento da soluo em
vrios telhados, de telhado complexo, de artificios, de vrias guas e
de telhados diferentes num mesmo edificio. Para compatibilizar co-
bertura e pavimento de forma adequada, necessrio fazer ajustes
na planta com vistas a otimizar a idia da cobertura.
A cobertura pode ser imaginada de diversas formas e com dife-
rentes materiais. A idia da cobertura requer, pelo menos, duas deci-
ses impor:fantes para permitir a seqncia da adoo do partido.
Uma, refere-se escolha da telha aser utilizada, eoutra, ado telha-
do ser aparente na fachada ou escondido. A deciso sobre a telha a
ser usada implica nas possibilidades decorrentes de suas caracters-
ticas e no modo de us-Ia. As telhas tmpeculiaridades prprias para
o seu uso, que as distinguem uma das outras. e isso influi na dec'iso.
165
A inclinao, a forma e o material de que feita, so as peculia-
ridades mais significativas para a escolha da telha. Podem tambm
associar a essas peculiaridades as consideraes sobre o custo do
telhado, a estrutura de sustentao e o poder de transmisso da ra-
diao solar no ambiente interno, para critrio de escolha da telha.
H telha que exige elevado ndice de inclinao. como a tradi-
cional cermica feita de barro cozido. ainda muito utilizada, que deve
ser posta com 25% ou mais de inclinao. a que menos irradia
calor no ambiente interno e, certamente, a que tem presena mar-
cante no volume do edificio e na sua viso externa.
H telha industrializada que exige inclinao menor para sua
colocao, como a ondulada, de fibrocimento ou metlica, prpria
para a inclinao emtorno dos 15%que pode ser usada emumvaria-
do nmero de situaes de cobertura, pode contar ou no no volume
do edifcio e pode estar aparente ou escondida.
H, tambm, a telha caracterizada como plana, aplicvel a telha-
do de pouca inciinao, como a telha de fibro-cimento ou metlica,
comtamanho de grande comprimento, prpria para inclinaes entre
2% a 5% e usada tanto para cobertura aparente quanto para escon-
dida.
A escolha da telha tambm pode ser adotada considerando-se
valores estticos importantes na deciso, como a forma que toma o
telhado e o material de que feita a telha, a importncia do telhado
no edifcio e sua percepo externa e interna.
A cobertura tambm pode ser idealizada semtelha. Pela adoo
de laje de concreto armado revestida commaterial impermeabilizante
para reduzir ou atenuar os efeitos da chuva, etratamento antitrmico
como redutor da irradiao solar sobre a superfcie da cobertura.
Esse tipo de cobertura, porm, no mostrou eficincia contra esses
efeitos com relao aos outros tipos de cobertura usados em nosso
meio.
A outra deciso dominante sobre b telhado aquela que implica
na idia de ele ser aparente ou no. Adota-se o telhado aparente
quando ele deve exercer papel importante no volume, na forma, no
aspecto esttico da viso externa, na proteo maior ao edifcio (com
beiral), dos agentes naturais adversos, emfavor das faces externas e
do ambiente interno. E implica na idia do telhado escondido quando
no se quer dar importncia a esses valores do telhado, mas super-
fcie da fachada e da composio da parede que o esconde, denomi-
nada de platibanda.
Se, at o presente momento do processo de adoo do partido, o
projetista no teve apreocupao de raciocinar onde colocar o reser-
vatrio de gua elevado do edifcio, deve comear a pensar nele a
partir de agora, nas cogitaes sobre otelhado. A idia sobre o reser-
166
,
I:
, .
i-' vatrio pode at ser raciocinada antes, nas idias sobre a planta bai-
xa, raciocinando no plano horizontal do pavimento a provvel posi-
, __ o dele com relao aos cmodos onde esto as instalaes hidru-
licas, para melhor distribuir o abastecimento nelas. Preliminarmente
pode-se at admitir a posio do reservatrio fora do edifcio e elimi-
nar nestes casos as cogitaes nos planos das idias do partido. Sea
idia a de coloc-lo no edifcio, certamente o reservatrio ter im-
plicaes com o telhado. E o projetista deve decidir sobre as alterna-
tivas de escond-Io sob o t"lhado ou de coloc-lO aparente, sobre o
telhado. A opo de disposio do reservatrio elevado pode induzir
escolha do tipo de telhado e tem razes de ordem tecnolgica
como a de sua dimenso para atender s necessidades de gua dos
provveis usurios das instalaes hidrulicas, como a de sua altura
com relao s instalaes para a presso nelas ser satisfatria, as-
sim como a de sua posio relativa emplanta baixa para tornar adis-
tribuio da gua mais racional. A idia sobre o reservatrio elevado
tem razes de ordem esttica quando, dispondo-se sob o telhado,
exige deste, maior presena no volume do edifcio ou quando, dis-
pondo-se acima do telhado, torna-se aparente passando a contar
como elemento construtivo no volume do edificio, com presena nas
fachadas.
A presena exterior do reservatrio elevado requer mais cuidado
com ele. Deve-se ter esse cuidado, especialmente com seu volume e
feio, quando sua posio o destaca na face do edifcio, na fachada
ou na sua frente como umvolume independente.
Exemplos:
A casa de veraneio e a igreja apresentadas anteriormente, tm
seus telhados indicados no croquis 14, pgina 168, o qual mostra,
no plano horizontal, as idias das coberturas desses dois edifcios.
Em ambos os exemplos, as decises tomadas sobre as coberturas
foram: a de uso da telha cermica e dos telhados com partes aparen-
tes e partes escondidas. Na casa, a idia da cobertura a de dispor
um telhado com quatro guas no centro, com beiral, sobre o retn-
guio contido pelos quatro pilares da estrutura, realando o casamen-
to desses dois elementos (cobertura/estrutura) e reforando esse
realce pelo fato dessa cobertura estar num plano mais elevado. Esse
plano corresponde, na planta baixa, sala de estar, no segundo pavi-
mento, e ao mezzanino (3~quarto). Nas demais partes do edificio, as
partes em balano da estrutura, uma para cada lado do retngulo
central, a disposio emplanos mais baixos, emquatro telhados com
uma gua cada, umcorrespondendo varanda, outro rea de servi-
o, outro, aos quartos e outro, cozinha e sala de jantar, respectiva-
mente. Dessa forma esses telhados realam aspart.es em balano e
167
,
!
j
Exerccios teis sobre a idia da cobertura:
169
1 - Idealize a cobertura da casa de veraneio com telhados
escondidos.
2 - Idealize a cobertura da casa de veraneio comoutro tipo de
telha.
3- Idealize a cobertura da casa de veraneio comumtelhado de
quatro guas.
4 -"Idealize a cobertura da igrej a com o telhado escondido.
S - Idealize a cobertura da igrej a com outro tipo de telha.
6- Idealize a cobertura da igrej a como telhado emduas guas.
7 - Idealize a cobertura da escola de 1 grau.
8- Idealize a cobertura de edificio conhecido, comoutr telhado.
do movimentos cobertura. Na igrej a, a cObe'rtura composta de
quatro telhados, sendo dois maiores e dois menores. Os maiores,
com caiamentos (gua do telhado) voltados para as duas ruas, for-
mam beirais da mesma altura vistos de qualquer ngulo externo,
dando feio regular, retangular a essas faces do edifcio. Elevam-se,
porm, no sentido oposto s ruas, formando o p-direito alto reque-
rido pelo grande vo da nave da igrej a, pela inclinao ascendente
da frente para o fundo. Os telhados menores, correspondentes na
planta baixa a elementos do programa comreas pequenas e de bai-
xas alturas de ps-direito. A diferena de altura nos planos dos telha-
dos maiores e menores serve para criar, entre eles, almda ambin-
cia espacial interior, uma superfcie de iluminao e ventilao alta
do plano da fachada para o interior do edifcio e permitir a penetra-
o dos raios solares sobre o presbitrio e a nave, emdeterminadas
horas do dia, para criar a sensao mistica e sobrenatural de focos
de luz no ambiente interno vindo do cu. Otelhado eo sistema estru-
turai esto casados nas suas formulaes. H uma malha modular
com mdulo nos dois sentidos ortogonais no plano do pavimento,
que serve de base para todo o raciocinio de disposio dos elemen-
tos da planta e est desenhada no croquis 15. pgina 173, na qal
se insere tambm a modulao estrutural. Este umproj eto conce-
bido com uma coordenao modular para inmeras das variveis
envolvidas. A viga emdiagonal, que sustenta acumeeira do telhado e
separa as suas guas, sobrepe-se a eles, destaca-se numa viso
externa e toma forma prpria, elevando-se para formar o cruzeiro
sobre o telhado para servir como elemento simblico evisual da igre-
j a, caracterizando o edfcio e distinguindo-a das demais construes
do entorno que possuem telhados semelhantes.
I
14
<t- ~EI.r~nDoto\. IUeL1J.l4~
DAt.UA ~o TELHA.I>o
(Of"SCID,It,)
~.xo ."10$T~.A"'001...
~$"T<UJTU~ PO "T~L.Io-\.. DO
'\3Lt.."T\e.AI.I:>A
4- o;,lortlt">O o'" t>z:.elt.", tiA.
"'."u .. 't>o TJ":L"'",t>o
PL"TI8A.HD .
T~'Y"
,r~I-\OS,1l.AIJDO Ao
lfioTRUTUg)t,. no "T.J[L'V.t)O
~lPA.
.'
~
-'PQ.o.) o 'O"' 1:>1::"0
II"X"l'''''''N''
8. "O"l'~
l'.~\RAL
RUFO
loSC\...A c;~'F\CA
CROQUIS I .
A IDE'IA DA COBERTURA
.~I
b) IGREJA
o) CASA DE VERANEIO
8.8 - lcIIa do sistema estrutural
Comece a conceber a idia do sistema estrutural como parte
integrante das cogitaes iniciais da adoo do partido. J untamente
com as idias desenvolvidas nos planos horizontais, especialmente
na do plano do pavimento (planta baixa). A idia bsica do sistema
estrutural pode at preceder aqualquer idia sobre aadoo do par-
tido. Neste caso a deciso sobre a estrutura torna-se idia dominante
da concepo do projeto, precede e condiciona todas as demais
idias do partido. Isso ocorre quando o projetista j escolheu anteci-
padamente o tipo de estrutura que vai utilizar no edificio, o seu
material e sua tecnologia. Noutros casos, na situao mais comum,
essa idia pode e deve comear a ser raciocinada na disposio dos
setores e suas dimenses ou na disposio dos elementos do pro-
grama. O que no conveniente ocorrer deixar para idealizar o sis-
tema estrutural depois dos raciocinios das idias feitas nos planos
horizontais, porque isso pode provocar ajustes nas plantas que
podem ser evitados ou conceber a estrutura com defeitos de sistema
e com o uso de artifcios. O importante conciliar o sistema com as
demais variveis atendidas na idia da planta.
O sistema estrutural entendido como o conjunto de elementos
de sustentao do edificio. A sustentao seexpressa atravs de ele-
mentos, como, fundaes, pilares, vigas e lajes. As fundaes so os
elementos que ficam no solo etransmitem a carga do edifcio sobre o
terreno. Esses elementos de fundao no constam das cogitaes
do partido porque envolvem variveis que no fazemparte do elenco
das decises de partido. Na idia do partido o projetista raciocina
com os demais elementos do sistema (pilares, vigas e lajes) nos pia-
nos horizontais e verticais. Os pilares so os elementos verticais que
recebem as cargas das vigas e as transmitem s fundaes. As vigas
so os elementos horizontais que recebem as cargas das lajes e
transmitem-nas s vigas. E as lajes so os planos horizontais dos
pisos dos pavimentos, recebem as cargas das pessoas e objetos dis-
postos nos cmodos e transmitem-nas s vigas. Esse sistema tem
m\lita sernelhan com o sistema de sustentao dos senis verte-
brados e dos vegetais, que tm uma vrtebra ou tronco vertical edele
derivam elementos que sustentam os outros elementos do sistema.
No edificio, o pilar funciona como a vrtebra, as vigas, como os bra-
os ou galhos da rvore eas fundaes, como os ps. Noedificio, os
pilares formam o conjunto de vrtebras interligadas.
A concepo desse sistema no edifcio envolve uma diversidade
de decises de projeto que se referem, por exemplo, ao tipo de estru-
tura a ser usada, s caractersticas tecnolgicas do material que a
constitui, resistncia desse material, s~a potencialidade aos objeti-
170
I
,
I
I
,
L " ," ,
vos estrutural e funcional para os quais a estrutura vai servir e a
tecnologia de sua execuo. Complementarmente, a concepo da
estrutura e_nvolvetamb~m consideraes de ordem esttica (a fonma,
as dlmen'Soes, as relaoes no espao construdo, a presena de seus
elementos nos planos horizontais e verticais, as propores e a tex-
tura do material) e da relao dos vos com os elementos do pro-
grama.
A concepo do sistema estrutural envolve tambm o raciocnio
com relao flexibilidade espacial. Numsentido, o da viso do cres-
cimento futuro da organizao para a qual o edifcio projetado e,
noutro sentido, o da viso espacial interna do edifcio, que permita
adaptar-se facilmente s mudanas nas atividades e funes da
organizao.
Quando o projetista elabora o projeto, ele se vale das informa-
es conhecidas nesta ocasio; e O futuro do que vai ocorrer na
organizao e no edifcio uma incgnita que, na maioria das vezes
difcil imaginar. A elaborao do projeto, portanto, a ocasio e" ;
que o projetista se defronta com a indagao de conceber o projeto
tendo emvista as informaes bsicas apenas ou de prever tambm
a interferncia de novas variveis ainda desconhecidas; emespecial,
a referente ao crescimento da organizao. evidente que emtoda
organizao h setores que tendem a crescer mais rapidamente que
outros, exigindo do projetista uma deciso sobre isso no projeto.
Quando o crescimento da organizao previsvel, os raciocin'ios
sobre a disposio do edifcio no terreno e dos setores do programa
no edifcio podem ser feitos com base nessas informaes. Quando
essa informao no possvel precisar no projeto, cabe ao projetis-
ta raciocinar o partido de modo que ele possa ser extensvel ou parte
dele, para atender ao crescimento. Partindo desse raciocinio de edifi-
cio extensvel, h que considerar o compromisso do sistema estrutu-
rai com isso. A idia de conceber uma estrutura modulada, a que se
possam acrescentar mdulos posteriores aos j construdos, para
atender a esse compromisso, recomendvel. Isso permite conciliar
os compromissos futuros da organizao e os do presente na ideali-
zao do partido.
_ Com relao s mudanas nas atividades e funes da organiza-
ao, ao projetista cabe imaginar umsistema estrutural para o edifi-
cio, de modo a deixar o espao interno livre para as mudanas oca-
sionais' Isso possivel, por exemplo, com disposio de elementos
estruturais (pilares) no plano das paredes externas ou prximo delas.
As decises sobre o sistema estrutural vo sendo tomadas no
decorrer do processo de execuo do planejamento arquitetnico,
com o nivel de enfoque correspondente exigncia de cada etapa.
171
(.' .<.
r. $[".','. ,.C .',' "' "
o 1',' :' ': :,,~,
_ _ '.'- ...l - _ .:. .
" -
g l
. " I
- ~
,,' g I
.~I
- .,-j
ESc.. ..L-P, Gl:l:::,:::-".
o . ':'.~4. ~'"" 1("",
~._ ~.'~ ... :_ _ --\
- - . +
.~00
~PILAR. I
b) DA IGREJA
CROQ.UIS l ~
A IDE'IA DA MODULAO E DOS VAOS ESTRuTURAIS
o) DA CASA DE VERANEIO
172
Na etapa de adoo do partido arquitetnico, a idia do sistema
estrutural recai sobre al g uns aspectos importantes da estrutura,
especial mente no nvel g eral da concepo ese constituir abasedo
projeto estrutural a ser el aborado posteriormente, noutra etapa. A
dia do sistema no nivel do partido pode ser pensada a partir da
especul ao sobre a disposio e as dimenses dos setores. Feita a
especul ao neste ponto, o projetista estar raciocinando o partido
na viso tridimensional e o que for pensado no pl ano horizontal ter
refl exo nos pl anos verticais. Com esse procedimento o projetista
estar evitando os ajustes de maior monta que podero surg ir no
final do processo de adoo do partido.
Na especul ao do sistema estrutural no pl ano horizontal do
pavimento, deve- se pensar sobre as idias da modul ao estrutural e
dos vos, l ong itudinal e transversal da' estrutura, tomando como
referncias dimensionais as areas de construo dos setores cons-
tantes do pr- dimensionamento do edifcio. Aespecul ao feita com
esses dados induz a associao das idias de modul ao comadis-
posio dos setores e dos el ementos do prog rama.
Tomemos o exempl o da casa de veraneio para raciocinar essa
associao de idias. As dimenses dos setores. j observadas no
item aa disposio e das dimenses dos setores, pg ina 150ese-
g uintes, permitem perceber as rel aes dimensionais entre el es, os
setores, que podem ser entendidos como trs componentes dos
quais, dois so aproximadamente ig uais emrea,e umterceiro, que
o dobro daquel es. Dessa caracteristica dimensional , referida em
rea, concl ui- se que tem possibil idade de ser concebida como um
edifcio de quatro mdul os ig uais, dois destinados aos setores que
so aproximadamente ig uais nas suas dimenses e outros dois
mdul os para o setor cuja rea ml tipl a, em dobro, daquel es. O
mdul o poderia ter rea de 62,OOm2, com base nesse raciocinio, a
qual a mdia das reas de construo dos dois setores menores.
Esse mdul o conter todos os el ementos do prog rama pertencentes
ao setor. As idias da modul ao estrutural e os vos da estrutura
partiram da, compl etadas com aescol ha da forma g eomtrica e das
propores do mdul o. As medidas de comprimento, Io'ng itudinal e
transversal , do mdul o seriam as medidas do vo estrutural eos pil a-
res da estrutura estariam dispostos nos vrtices do mdul o.
Admitindo- se como idia .dominante da concepo estrutural da
casa de veraneio a de fazer o sistema de sustentao como minimo
de pil ares possvel , dentro da disposio dos setores edos el ementos
do prog rama j feita, a opo mais intuitiva a de quatro pil ares,
cada um disposto num dos vrtices do retng ul o formado pel o en-
contro dos braos da cruz que d forma pl anta baixa. Ver a repre-
sentao dessa idia na letra a) do croquis 15, pgina 173, Nessa
disposio dos pilares, porm, o mdulo reduz-se umpouco da rea
prevista, passa para 52,00m2, ficando as partes salientes alm do re-
tngulo do mdulo para serem tratadas estruturalmente como balan-
os, um em cada lado. Essa idia dominante da conce"o estrutu-
rai da casa, objetiva faz-Ia suspensa no terreno, reduzir sensivel-
mente a sua ocupao e dar-lhe uma impresso de leveza, de eleva-
o. Essa estrutura est concebida com o uso do concreto armado.
Para raciocinar com outro exemplo, o da igreja, as dimenses
dos setores, j observadas no item 8.3, sobre a disposio e dimen-
ses dos setores, pgina 150e seguintes, permitem tambm perce-
ber as relaes dimensionais entre esses setores, que podem ser
entendidos como trs componentes dos quais um grande em rela-
o aos demais, o setor culto. Outro, dois teros menor que este, o
setor administrativo. E o terceiro, pequeno em relao aos outros,
quase insignificante com relao ao primeiro, visto que doze vezes
menor. A observao dessas caractersticas dimensionais, referidas
em rea, permite perceber que as propores dos setores fazem do
setor culto o preponderante do conjunto e o que vai influir decisiva-
mente na idia do sistema estrutural. Admitindo-se a unidade modu-
lar de 30.00m2 que atende exigncia da rea do setor servio, o
setor administrativo ter seis mdulos e o setor culto ter doze.
Dessa caracteristica dimensional, referida emrea, e tendo emvista
que sendo a nave da igreja o elemento de maior significao espacial
do setor culto, eexige seja umespao livre de pilares no seu interior,
a idia do sistema tem de partir da soluo estrutural desse vo. A
idia do sistema, partindo desses raciocinios de setores, a de fazer
uma estrutura porticada com vo livre de 15.00m, a largura da nave,
dispondo os pilares nas suas paredes laterais, obedecendo forma
imaginada desse elemento do programa, de acordo com a modula-
o adotada. Admitiu-se para modulao uma malha bidimensional.
nos sentidos transversal e longitudinal, de lado iguai a 3.00m. Essa
malha serve de parmetro para o atendimento de rea dos trs seto-
res. Alm dessa modulao ortogonal h linhas diagonais passando
pelos vrtices desses mdulos que servempara referncias da dispo-
sio das paredes que definem os elementos do programa. Ver a
representao dessa idia na letra b) do croquis 15, pgina 173. Essa
idia dominante da concepo estrutural da igreja objetiva conceb-
la segundo uma idia de coordenao modular dimensional na dis-
posio dos elementos do programa, no sistema estrutural, no espa-
o interno, nas relaes construtivas e no uso dos materiais tendo
em vista suas dimenses. bom lembrar que a idia do sistema es-
truturai foi pensada com base no uso do concreto armado.
174
F : ~ . - . . _ ~b~,1'- "'Mu~1
I -- - 1- Perceba as relaes dimensionais dos setores da escola do
1~grau e imagine a idia da modulao cabvel.
2 - Observe, em projetos conhecidos, a idia ,do sistema estru-
turaI.
3 - Observe, emedifcios conhecidos, a idia do sistema estru-
turaI.
4- Imagine uma nova idia para o sistema estrutural de umpro-
jeto ou edfcio conhecido.
'i
175
t
I
j
8.9 - Idia da forma
Idealize a forma do edifcio. A idia da forma do edifcio tratada
aqui, no como uma interpretao filo~6fica. do conceito de forma,
ne,:, da percepao subjetiva dos valores de ordem esttica (OOlo,-feio,
antigo, moderno, ...) mas como umaspecto no qual o projetista deve
tomar a deciso de ordem prtica, formal, na adoo do partido.
Na essncia, a questo refere-se forma que adotar para o edificio e
como tratar os diversos aspectos envolventes na idia da forma nos
planos horizontais e verticais do partido para produzir um edifcio
que expresse uma nteno formal agradvel, criativa e bonita.
E mportante salientar que a idia bsica da forma do edifcio
pode preceder a qualquer outra idia da adoo do partido. Muitos
projetos de edificios so concebidos assim. Neste caso, a deciso
sobre a forma torna-se idia dominante da concepo do partido e
precede e condiciona todas as demais idias envolvidas no partido e
as demais decises de projeto. Tudo o mais se ajusta a ela. Isso
ocorre quando o projetista escolhe antecipadamente o tipo da forma
que vai utilizar no edificio.
H idias dominantes de adoo do partido que associam as
idias de forma funo. Outras associam a forma e a estrutura.
Outras associam a forma com as caractersticas do material utilizado.
Outras idi~s de forma do edifcio podem resultar, simplesmente, da
Interpretaao formal do conceito do tema. Resultam tambm da com-
binao de vrias dessas variveis do partido. E assim por diante.
Noutros casos, nas situaes mais comuns de acontecerem, a
forma do edifco nasce e evolui com a evoluo das idias produzi"
das na adoo do partido, como parte integrante das cogitaes in-
ClalS, J untamente com as idias desenvolvidas nos planos horizon-
tais. Nestes planos, a idia bsica da forma do edfcio pode e deve
comear a ser raciocinada na disposio dos setores, quando se
Introduz nela a varivel dimenso (ver item 8.3). A dimenso est
sempre rela:ionada com a forma. E prossegue no item seguinte, 8.4,
da dlsposlao dos elementos do programa. A idia nascida assim
produzida nos planos horizontais do partido, especialmente na plan~
ta baixa, deve ser relaCionada ao mesmo tempo com as idias produ-
Zidas nos planos verticais, de cortes e fachadas, para traduzir o volu-
me do ed,f,cIO, suas dimenses e propores e suas caracteristicas
formais bsicas: .Esse relacionamento permite a associao tri-
dimenSional das Idelas da forma do edifcio, desde o comeo at o fim
do processo de adoo, evitando-se assim, pelo menos, os ajustes de
maior monta aserem feitos no final do processo. Oajuste s6 sejusti-
fl~a quando o projetista no associa as idias de forma nos dOis
nlvelS aos planos das idias.
176
A forma do edifcio deve ser algo concebido com ;ntencionalida-
de e no a resultante da casualidade. O trao dado pelo projetista
para definir a forma dever ser consciente no sentido de estar imbudo
de alguma razo, de umobjetivo formal.
Ao delinear a forma da planta baixa, o projetista j e~t, comcer-
teza, dando incio concepo formal do edifcio, expressando-a no
raciocnio dos planos horizontais. Ai ele trabalha com as variveis
dimensionais dos setores e dos elementos do programa, suas dispo-
sies no terreno e entre si, suas dimenses e propores. Se o pro-
jetista quiser especular a forma nesse nivel, vai encontrar, provavel-
mente. "n". eievado ao infinito, alternativas formais de planta baixa.
Para o processo de desenvolvimento mental de raciocinar a forma
importante especular. pelo menos, algumas dessas alternativas. Nes-
sa especulao, o universo das alternativas pode-se reduzir a um
nmero finito, quando se relacionam outras variveis pertinentes ao
raciocinio, como as variveis derivadas das informaes bsicas,
conceituais e fsicas, e dos graus de influncias dessas variveis so-
bre a forma do edifcio.
A forma do terreno uma das variveis fsicas que pode exercer
influncia marcante sobre a deciso formal do edifcio no plano hori-
zontal. Consideraes sobre essa varivel esto contidas no item
6.4.1 (a forma e as dimenses do terreno) etambm esto no item8.3
( a disposio e as dimenses dos setores).
As orientaes, quanto ao sol e aos ventos dominantes, podem
exercer influncia na forma da planta, tendo emvista as decises
sobre as formas de disposio dos setores e dos elementos do pro-
grama no terreno, relacionadas com essas orientaes.
A forma do edificio tambm pode se relacionar com a conforma-
o do relevo, quando esta induz soluo daquela.
Podem-se relacionar as dimenses do edifcio tomadas no pr-
dimensionamento e as dimenses do terreno e a influncia dessa
relao sobre a idia do volume e das propores do edifcio.
A forma do edifcio pode tambm sofrer influncia das restries
impostas pela legislao pertinente, como as de gabarito de ~Itura,
recuos. taxa de ocupao e coeficiente de utilizao. As relaoes do
edifcio com o entorno podem tambm produzir conseqncias nas
ideias de forma.
H outras consideraes incidentes nas relaes formais que
podem e devem ser imaginadas nas idias iniciais do partido e tm
conseqncias marcantes na disposio vertical do edifcio. O volu-
me do edifcio uma delas. A disposio no plano horizontal permite
deduzir as propores desse volume. Essas propores so fruto da
ocupao sobre o terreno, do nmero de pavimentos e das relaes
177
dimensionais entre o pr-dimensionamento e a dimenso do terreno.
Disso decorrem as caractersticas do volume, ora predominando a
horizontalidade, ora a vertical idade do edificio, ora o equilibrio hori-
zontal e vertical das propores do volume.
Ess.as caractersticas podem ser visadz...salternativ.amente com
inten esttica para realar ou atenuar os efeitos decorrentes das
propores, quando se quer dar valor horizontal idade ou vertica-
Iidade do edifcio. Podem-se criar tambm disposies formais na
planta para produzir contrastes e combinaces de forma nas facha-
das. Podem-se criar elementos que produzam sensao de movimen-
to, tanto nas idias postas nos planos horizontais como nos planos
vertrcals ou, ao contrario, dar tratamento forma da planta para real-
ar o carter de serenidade. de ordem e disciplina a ser expresso na
fachada .
. ,S~o inmeras as preocupaes com as idias de disposio do
ed~flCIO nos planos horizontais, especialmente as posta na planta
baixa para obter efeitos de fOrrTlaque se refletiro nos planos verti-
cais, especialmente nas fachadas e ao final traduzem a concepo
tridimensional do edifcio. Dentre essas preocupaes. uma r~le-
vante e ~ale a pena. ser mencionada pelos reflexos que produz na
concepao formal. E a resultante da disposio das esquadrias na
planta baixa e sua correspondente disposio nas fachadas e as rela-
es estticas delas n~s faces verticais. importante a associao
das Ideras de dlsposlao das esquadrias (portas e janelas) no plano
hO~lz?ntal, que considera as questes de iluminao e ventilao, e
as rdelas de disposio vertical dessas esquadrias nos planos verti-
cais, que considera a questo esttica como primordiaL A composi-
o esttica da fachada est relacionada com os "cheios" (faces
das paredes) e os "vazios" (esquadrias) e suas combinaes e
contrastes de forma. dimenses, quantidade, propores, texturas
materiais e posies. Na composio form21 do edifcio relacionad~
com esses elementos, convef1iente relacionr os "cheios e vazios"
das fachadas definindo p(j~i,dir'!"'len80S. propores e quantida-
des de esquadrias e ajustai essas idi2S dos pianos verticais nos
planos horizontis.
Exemplos:
. ,Tom.~.rnoso d:3 C8_SRdI? v,:~rfFl~ln P?l.-: r;:7.er consideraes sobre
a laela basrca da TOrrna do edlflC!O rOSTa '-,,---' p;.:mo horizontal. Percebe-
se a fort~, inf.!uncia na if~8i!:l. elB fCtrn~,,'='1 Od piar:ta (a forma de cruz)
pelas vanavels como a. forma. do te! rf'no .'iS diTiBnSeS do edifcio
r~lacion~das com 25 dirnef1se:"J do terreno, as restries da legisla-
~ao,p~rtrnente (recuos etaxa de ocupa{io), etc. Ver a) no croquis 13,
a pagina 163. A disposio das esqlJ8liri;'1S (j2nelas) ficaram para ser
178
, I
I
definidas no raciocnio de disposio vertical, tendo emvista as con-
sideraes de ordem esttica.
No caso da igreja, as dimenses do terreno no exerceram
influncia marcante sobre a forma do edificio, porque a relao entre
elas no restritiva. O projetista tem liberdade de escolher aforma
para a planta baixa (quase um quadrado), resultante principalmente
das consideraes de outras variveis (a disposio dos elementos
do programa, as orientaes quanto ao sol e ventos, a malha estru-
turai, os acessos, a cobertura, etc.). Ver b) no croquis 13, pgina
163. Do mesmo modo, na casa de veraneio, a disposio das esqua-
drias na planta baixa resultar das consideraes de ordem esttica
feitas na composio das fachadas, associadas s consideraes de
ordem funcional e de orientao feitas na planta.
Exercicios teis sobre a idia da forma:
1- Especule, desenhando idias alternativas de forma, no plano
horizontal, da casa de veraneio e da igreja.
2 - Especule, desenhando diversas idias de forma, no plan'o
horizontal, da escola do 1~grau.
3- Especule, desenhando idias alternativas de forma, no plano
horizontal, de projeto arquitetnico conhecido.
4- Especule, desenhando idias alternativas de forma, no plano
horizontal, de edifcio conhecido.
179
1
9- IDIAS NOS PLANOS VERTICAIS
9,1 - Disposies verticais do partido
Raciocinadas as idias do partido arquitetnico nos planos hori-
zontais do sistema bidimensional de referncias grficas, conforme
os procedimentos sugeridos no item 8, prossiga o processo de ado-
o, idealizando o edifcio noutra forma de expresso, a dos planos
verticais, para com eles consolidar a idia tridimensional do partido,
Na realidade, a ordem pela qual se procede adoo do partido
no o mais importante, Pode-se comear por qualquer dos planos
de refernclas, Alis, J ficou dito antes que o ideal raciocinar todas
as variveis simultaneamente, De hbito, para o prOjetista iniciante
na prtica do planejamento arquitetnico, comea-se pelo raciocnio
nos planos horizontais e prossegue-se com os planos verticais,
mais fcil e mais compreensvel quando feito assim. Por isso, o
mtodo aqui expresso segue essa ordem,
As idias bsicas do partido postas nos planos horizontais e 'lOS
verticais devem nascer associadas, qualquer que seja aordem dela-
borao. Isso significa dizer que, quando o projetista raciocina num
dos planos de referncias, deve estar associando esse raciocnio nos
outros planos ortogonais,
Se o projetista j raciocinou as idias nos planos horizontais
(plantas) e considerou os efeitos que essas idias produziro nos
planos verticais {cortes e fachadas) j desencadeou as associaes
das idias bsicas nos dois nveis de ,eferncias e est raciocin~ndo
O edifcio. na percepo tridimensional. Se o projetista, porm, racio-
cinou o partido nos planos horizontais sem assa associao, certa-
mente tel' de raciocin-lo depois nos planes vlticais e ir fazendo os
ajustes necessrios associao d2S !clS!a'3dos planos horizontais.
Esse ltimo procedimento ocorre comufllf:LTie com o jniciar~tena pr-
tica do planejamento arquitetnico. P0I"~UU ~~jndanf\o se exercitou
suficientemente na [Jitica da ideaiizCi:~aotridimensional do edifcio.
As disposies verticais do editici-o so expressas nos cortes
nas fachadas. O corte o plano vertical que passa pelo interior do
edifcio. cortando-o verticalmente, p(; :.i" a nele se expressarem as
180
idias da disposio vertical interna, A fachada o plano vertical que
passa defronte do edifcio para nele seexpressarem as idias da dis-
posio vertical de sua face externa. As idias das disposies verti-
cais do partido so expressas por dois cortes ortogonais, no mnimo,
e tantas fachadas quantas forem as faces verticais do edifcio, Nor-
malrnente quatro fachadas so sufcientes para exprsso dessas
idias,
" Nas consideraes feitas no item7.4, sobre as idias eos planos,
ja foram dadas as explicaes relativas representao qrfica das
idias nos planos verticais na linguagem bdimensional. -
Na realidade, as disposies verticais do partido originam-se dos
raciocnios feitos com os elementos postos nas plantas, referidas em
duas dimenses (comprimento e largura e rea), com introduo da
terceira dimenso (altura) produzindo a percepo emvolume,
No contexto das disposies verticais, no corte que a idia da
espacial idade no sentido tridimensional se expressa. Na forma, na
dimenso e na proporo do volume do edificio. No corte tambmse
expressam as referncias altimtricas internas, como as des ps-
direitos, dos cmodos do programa, das circulaes verticais, das
sees dos ps?s, das lajes, das vigas. das paredes, das esquadrias e
da cobertura, E no corte onde se expressa a idia da relao estabe-
lecida entre adisposio vertical do edifcio eado terreno. onde se
diz, na relao altimtrica, a idia sobre as medidas dos elementos
construtivos do edifcio, Onde se expressa a disposio frontal dos
elementos internos e dos contidos no plano da fachada perceptveis
no plano do corte,
O corte, como representao da idia da disposio vertical
interna, exige do projetista a tomada de duas importantes decises.
Uma, referente escolha da posio onde ele deve passar na planta
do pavimento, e outra, a referente ao sentido para onde deve dire-
cionar a observao dos elementos aserempostos no corte, Tanto a
escolha da posio do corte na planta quanto a escolha do sentido
da observao feita dentre duas posies pos~iveis, sodecises que
se destinar.1 a expressar com clareza e preciso as idias mais signi-
ficativas da concepo do partido. .
A fachada, como representao da idia da disposio vertical
externa, exige dr . . ' projetista uma atitude de conceb-Ia, no como
uma elevao. conssqncia das idias postas ilOS planos horizon-
ta:s somente, mas como uma das partes do edifcio, significativa, que
r eq l l er l!~ fcnjLinto de rclocfn:os de vrias ordens de id:as. Nela
associam-s as idias .! estabelecid8,s no ~aciocniodos planos hori-
zontais com li ele!lco da~variveis de ordem esttica, tecnolgica e
de materiis. A facllada 8 a face 'Jisivel do edifcic, a da observao
externa e, portanto, a que deve ter o devido tratamento par" que a
181
l
I
sua percepo represente toda a concepo do edificio, e que nela
seja sentida a sua inteno esttica.
9.2 - Disposio vertical interna
Idealize a disposio vertical interna do partido. Esta disposio
obtid atravs do raciocnio e construo dos planos dos cortes.
A idealizao do corte est envolvida com umelenco de variveis
e decises de projeto decorrentes, tanto das informaes bsicas
quanto das idias postas nos planos horizontais. Ela se envolve com
O conceito do tema pela relao estabelecida entre o conceito e for-
ma, entre conceito e funo, entre conceito e espao. Como progra-
ma e com O pr-dimensionamento. Ela se envolve tambm com as
idias postas nos planos horizontais, com o nmero de pavimentos,
com as diversas exigncias de altura dos elementos do programa,
com os elementos verticais de ligao, com a idia do sistema estru-
turai, da cobertura e da forma do edifcio. Com as idias sobre a
tecnologia para a construo, com o relevo do terreno e com as con-
sideraes de ordem esttica incidentes nas fachadas e comtodas as
demais referncias altimtricas que ocorram na concepo do par-
tido.
O corte se constitui, basicamente, num instrumento de idealiza-
o do partido e no somente na construo vertical das referncias
idealizadas nos planos horizontais. Ele , ao mesmo tempo, produto
e insumo. E assim deve ser idealizado. Neste sentido, o corte serve
como elemento bsico da criatividade da disposio espacial do par-
tido, inclusive para ajustar as idias dos planos horizontais com a
disposio vertical, relacionando-a coma disposio do terreno, com
o nmero de pavimentos, com a cobertura e com outras variveis
relacionadas com a altura, envolvidas antes e durante as decises
formuladas nos planos horizontais. Isso significa dizer que o projetis-
ta, ao raciocinar o partido nos planos horizontais, j deve ter, pelo
menos, uma idia bsica da disposio vertical interna.
Quando o projetista comea a adoo do partido pelas idias de
forma e de volume do edificio, j est raciocinando nos planos verti-
cais e, com certeza, idealizando os cortes. Essas idias tornam-se
dominantes e vo influir nas disposies horizontais. numa inverso
de ordem no procedimento do mtodo exposto aqui.
Escolhida a posio na planta e a direo pela qual vo-se obser-
var as referncias verticais, visando expressar as idias estabelecidas
nos procedimentos anteriores da adoo, a construo do corte faz-
se, desenhando-o no plano vertical correspondente, com as refern-
cias altimtricas do partido concernentes 1 '\ todas as idias cabveis
nesse plano. Elas so as refernCias das alturas determinad~s, por
1 82
exemplo: pelo nmero de pavimentos, o qual fixa o perfil vertical do
volume do edificio; pelos ps-direitos dos cmodos,.que explicam as
alturas deles e a espacial idade resultante da; pela cobertura, com
sua exigncia de inclinao da telha e sua tcnica construtiva; pelos
elementos da edificao, tais como, as sees das I'\jes e das vigas
que definem os pisos e tetos e suas sustentaes; pelas circulaes
verticais, dispondo os elementos de ligao; pela relao do edificio
com o terreno, mostrando a acomodao ou modificao de seu per-
fil naturai; pela posio do reservatrio de gua elevado, para satis-
fazer s exigncias tcnicas etc.
O corte, na linguagem grfica, est expressando as idias atravs
de sees das partes do edifcio situadas na superficie do plano do
corte; expressa, tambm, as partes vistas fora deste plano e captadas
pelo sentido da observao escolhida e as partes 'que, no sendo
secionadas nem vistas pela observao. devam ser mostradas neste
plano atravs de projeo ortogonal sobre ele, por alguma necessi-
dade de esclarecer as idias dessas partes.
bom O projetista ter em mente urna peculiaridade decorrente
das posies dos cortes, que pode ser til na idealizao da dispo-
sio vertical interna e aproveit-Ia para associar idias ou, pelo
menos, conferir referncias altimtricas. o fato de que os dois cor-
tes (o longitudinal e o transversal) tm uma linha vertical de refern-
cias comum, situada no ponto onde se cruzam, facilmente identific-
vel no plano da planta e nos seus planos. Nessa linha. todas as refe-
rncias verticais so iguais nos dois cortes. Esse cruzamento pode,
inclusive, ser escolhido pelo projetista num ponto estratgico da
planta, objetivando associar idias nessas referncias comuns.
Vejamos os exemplos:
A casa de veraneio. As posies escolhidas para os dois cortes, o
longitudinal e o transversal, denominados. respectivamente, de corte
A-A' e corte 6-6', foram as que, situadas em local onde se mostras-
sem com maior clareza possvel as idias de disposio veri.leal inter-
na, passassem s8cionnco os dementos de ligao vertical, os ele-
mentos estruturais ~siccs --lajes e vigas -, os elementos da cober-
tura, outros elemento::: construtivos bsicos, a acomodao do edif-
cio no perfil do t8r:-eih".\ e d8mais J efer'enci.s cumplernentares rhJ per-
fil da f.schada. O ser:iidl: da observa:3.. ) do corte foi escoihidcl para
mostrar tambm o nximo de ;nlornaes possvel. As PO,SI,:es
desses cOl1es esto Indicadas 1 1 0:':; (J Oul;IS 11.13 e 14. s p~ll]inas
!60, 1 63e 1 68, COili as setas ;nulc.ti\;as do Sentido (iaobservailtl. O
Gr"oquis 16, pgina.'184. mast'.o aexpresso desse~ cortes.
As disposies desses cortes permitem expressar os racioclllios
das id;as dorrinantes e das demais decises de projeto p",,10S
183
J
CRoours 16
A IDE'IA DA DISPOSIO VERTICAL INTERNA DA Ct..SA DE VERANEIO
nesses planos verticais_ Por exemplo, a idia sobre a disposio do
programa nos pavimentos, a do nmero de pavimentos, a da ocupa-
o do terreno, a da cobertura, a dos eleme:ltQs estruturais e da f o r ..
ma, e a das consideraes referentes segurana dos usurios, for-
mando o conjunto das decises conceituais bsic9s e tecnolgicas
que nortearam a concepo do partido e esto refletidas nas dispo- .
sies desses cor1es.
Obse'-vando-se os cortes, v-se a expresso do programa nos
pavimentos, com a maior parte dele disposta no segundo pavimento,
e, no pr'imelro, parte do setor social. Sobre a parte do living, a dispo-
sio do mezzanino, que foi idealizado para servir como quarto de
viSitas e eventualmente como sala, A disposiii.o do partido com
esses pavimentos, visou dispor a casa emposio tal que avista para
o mar obtida dos cmodos dos setores intimo e social. A segurana
se reflete no s nessa disposio vertical do programa em que se
pe a casa elevada com relao rua, mas, tambm, pela idia de
dispor a escada, que o elemento vertical de ligao, como um ele-
'llento mvel, basculante, para ser levantada ou abaixada quando jul-
g::ldo conveniente. A cobertura com sua disposio conseqncia
da telha usada, do telhado e de suas caractersticas peculiares que
do 8forma inclinada do teto. Os telhados so separados, sendo um
mais dito na parte central da casa, para permitr altura suficiente para
dispor o rnezzanino e o reservato de gua elevado. Alm disso, o
teihado foi idealizado de modo que fosse visto, emparte, internamen-
te, em al\juns cmodos. A estrutura foi concebida de modo atornar a
casa Uf11 volume solto no terreno e induzir sensao de leveza. A
acomodaao do edificlo sobre o terreno simples conforme a sua
disp()sio na planta. semdificuldade, posto que o terreno plano e
a editica~~o se acolTloda a ele.
Os Co:1e::; expreS3dnl tarnbeln diversos outros aspectos, alm dos
j citados, .:.:ogitads e concertlentes s idias geradas nos prprios
pl3nos vGrtit:;as, reiativ0S a ques16es de ordem tecnolgica e esttica
que t1f! !e!ccJ CO!n d. teGf,ica construtiva, o volume do edifcio e a
Idelli:a.y2.U J a::; i8Cll6.J ~:3.
A igreja. As pJ 1OdS8ticoll-,idas par3. os dois cortes, o longitui-
na! E;o lriIiS\lerSdl, ~~t;ll0'~':inadsrespectivamente de corte C.C' e
corte: :J .J ' :')~-2r;(1 talrt"h~fll as qUE ~e situm 8m IOCBl onde se mos-
trmI"! , cerl! rr--aio! c:3.re:i ~.J o$sivel. as idi3S da dh:=:posio ve:"tical.
1'.J 9:8tecaso, as posices escolhidas forar,l as de dispor os cor~es em
r.li<.l~i.:l!, ;;. forml C;l,2cJ racJ a d~plJ nta. Essas escolhas levaram em
c0ns~der2~:.so r:~(;f;s~iQaciede rr;c,str ar principalmente os elementos
dt'. Gs1.nlt:J ~C i~BS iJ osie:; lungitudinal e transvers.!!. visto que ela
le:r sig,',t:c"jo in~tJ orlan~8na ccnsepo do partido. !) melhr modo
dE- rncs~r 21 Esse ::ig(lltl(;?dc eytr":;ido d8Gart.es nes::;as posies,. As
185 1
t
I
I
I
o , ::.
- - - - = - = - '
L;>1~<\J ~Ir.- O\J ( . "';IC:,L
~'CI~. 1Ol- >:- '- 'E'J "':"OS
PO ?QO[,<2.A",1.,
- - "" I -'-~..,~
h e,,"IG M '''_ "
,
:J \~POS!-o vER11C4L
,,0'\ F.:LE~\Ej.J IQ~, ,".'
';>l.C ['>! Ll.
ti) CORTE lONG ITUDINAL
CORTe A-A'
"
b) CORTE TRANSVERSAL
.u!
bl CORTE TRANSVERSAL
C.OQUII 17
I
I
posies desses cortes nas plantas esto indicadas nos croquis 12,
13 e 14, s pginas 161,163 e 168, com as setas indicativas da dire-
o da observao. No croquis 17, pgina'186: esto desenhados
.os respectivos cortes.
Nesses cortes esto expressas as idias bsLcas referentes aos
elementos estruturais bsicos, aos elementos da cobertura, aos di-
versos outros elementos construtivos e aqueles a considerar nos
planos da fachada perceptiveis nos cortes.
As idias dominantes da disposio vertical do partido da igreja
resumem-se nas seguintes consideraes: idealizado emapenas um
pavimento, todos os elementos do programa esto contidos nele. A
disposio vertical do partido vista sob o enfoque formal, toma a
forma e a inclinao determinadas pela cobertura escolhida. Acober-
tura temtambmpapel importante naconformao do espao interno.
Ela tem altura maior no cmodo central. o maior do pr-dimensiona-
mento, anave, onde sevai concentrar amaior parte das atividades da
igreja e o maior nmero de pessoas. Essas diferenas de ps-direitos
cria diferenas nas alturas dos telhados. O telhado. mais baixo est
sobre a sacristia onde o cmodo menor emrea. A diferena de
altura dos telhados serve tambm para criar o vo' aberto entre eles,
onde se coloca uma esquadria que permita a circulao do ar aque-
Cido do interior da nave, permita boa aerao e iluminao interna. O
sistema estrutural concebido emconcreto armado, numa estrutura
porticada, para superar com facilidade o vo livre de 15.00mda na-
ve. A acomodao do edifcio sobre o terreno simples, no plano
horizontal, sem maiores alteraes.
Os cortes tambm expressam diversos outros aspectos, almdos
j citados, inerentes s idias nos planos verticais de natureza tecno-
lgica, construtiva e esttica.
,r:~~~~~
~"'::':~:'
':::-:.-:.....:.
"'-~~
_1 t>1~rc"''''C'''(l IV. CH;:((::.A.(" ro,,~
/
CORT~ C-C'
t>J~POSI~"'O DO!;IST~H"" E!,TIlI)"HIt.'AL
P("TI')-'
.1 co,nr. LONGITUOtNAL
A IDIA DA DISPOSiO VERTICAL INTERNA DA IGREJA
o 1 = :;,.( 6~ 10,..
lowlw!_ I
~
f-R.[JOUCIoJCIA'!o
AL"~'-':ltI C"~
!.
COR.Tf: D-D'
t'Sr.::;Ui GL.!~'FI[I--l
o 1 2 ~ .~ 5p, lOn'
! ! ! !:=-W = -= = = '
Exerccios teis sobre a disposio vertical interna:
1- I dealize dois cortes, umlongitudinal e outro transversal, da
casa de vHaneio, em posio e ser,tidos de observao diferentes
dos mostrados nos exemplos dados, para expressar as idias nos
r1anos vetic'lis.
2_. idealize dois cortes, umlongituGinal e outro transversal, da
igreja, emposio e sentidos de observao diferentes dos mostra-
dos nos exemplos dados, para expressN as idias nos planos verticais.
:l - I dealize dois c'lrtes. umlonglludinal e outra transversal, da
escola 001~grau, referida anteriormente, tendo como critrio bsico
de escolha da posio e do sentido de observao o que expresse
com maior clareza '"'sidias da disposio vertical interna.
187
j
9.3 - Disposio vertical externa
Idealize a disposio vertical externa do edificio. A idia dessa
disposio a expressa nos planos das fachadas do partido. As fa-
chadas so a representao das faces exteriores do edificio. do seu
invlucro, da sua parte visivel observada frente a ele.
As fachadas tm significado importante na adoo do partido,
visto que, por meio delas se expressa a feio do edificio, o seu jeito,
e se revela o seu carter. Para obter-se essa feio e o carter do edi-
fcio necessrio dispor os planos verticais correspondentes que inte-
.gram o sistema grfico de referncias do partido. J foi mencionado
antes, no item 7.4 sobre idia e planos, os planos que compem as fa-
chadas, em mdia de quatro, um para cada lado do edificio. Observe
que todas as fachadas so iguais em importncia, para expressar a
idia da disposio vertical e merecem o tratamento adequado com o
qual se mostra a feio prpria e integral do edificio.
A disposio vertical externa do edificio pode ser idealizada no
comeo da adoo do partido, quando o projetista raciocina alterna-
tivas de fachadas, como idias dominantes que servem de base para
especular as disposies nos planos horizontais.
Muito provavelmente, o projetista, ao raciocinar as idias de dis-
posio horizontal, associando-as com idias de disposio vertical,
estar produzindo idias bsicas de fachadas. Seu trabalho, neste
caso, quando chega a ocasio de idealizar a disposio vertical ex-
terna, ser o de associar essas idias nas especulaes sobre as
fachadas, acrescentando outras at ento no cogitadas, fruto do tra-
balho desenvolvido na prpria disposio vertical externa.
Na maioria dos casos de adoo do partido, as idias das facha-
da~ vo surgindo nas plantas e se consolidando nos cortes, pelas
associaes de idias produzidas nesses planos. Por isso mesmo, a
idealizao das fachadas est comprometida com um elenco de
variveis e decises de projeto, que envolve desde as informaes
bsicas, at as idias postas nos planos horizontais e verticais. Rela-
cionam-se as idias das fachadas com o conceito do tema, com as
exigncias de ordem funcional, com a disponio dos setores e dos
elementos do programa no terreno e nos pavimentos, com as dimen-
ses e a forma do edificio idealizada nas plantas. com d cobertura,
com o sistema estrutural quando seus elemen~os E-e pp,m!la f:1C!l:-
da, com o nmero de pl.vimentos e 3$demais reren?r,cias aitimtri..:a.s.
Mas h, em particular, um conjuntu de v~,,;;veis que tm impor-
tncia fundamental nessa disposio vertical do partic'c-: reieren-
te aos aspectos es!ticos. ~nas faehad8.s que a',ari?vel estti~a. ana-
lisada sob diversos aspectos, tei1l peso maior nas consderaeE. da
adoo do partidQ. Os aspec,os dessa varivel dizeCl respeito ao
188
L
volume do edifcio, sua forma, s suas propores ao seu carter
s relaes entre os elementos componentes da' fachada (com~
paredes, eSQuadrias, cobertura etc.) aos materiais a serem usados
no revestimento, s texturas desses materiais, s suas cores en'fim,
atodos os aspectos que contri~uam para que as fahadas possam se
dispor Visando obter efeito estetlco que revele inteno de beleza.
Alm das consideraes sobre todas as variveis envolvidas, a
idealizao das fachadas se constitui num trabalho de associao de
idias. Quando se raciocina nos planos do sistema bldimensional de
referncias, as idias postas nos planos horizontais tm de estar
associadas s idias postas nos planos verticais do partido e vice-
versa.
Essa associao se impe sempre que o projetista raciocine
primeiro a planta baixa e depois as fachadas, porque o raciocinio
feito nos planos horizontais considera variveis que tm papel impor-
tante. nesses planos, como as de relaes funcionais, as de disposi-
ao 00espao mterno, as de orientao, as de dimensionamento etc.,
e nas fachadas as variveis mais significativas a considerar so
outras, esp~cialmente as de ordGm esttica ... Por isso mesmo que,
o trabalho oed:spor o partido nos planos verticais no simplesmen-
te atransposlao para a altimetria das referncias (paredes e esqua-
dnas) postas nos planos horizontais, mas um trabalho de idealizao
das fachadas que requer tantas ou mais especulaes de hipteses
de dlsposlao, conjugando todos os elementos envolvidos, quanto o
trabalho da elaborao da planta baixa exioe.
Comea-se a expressar de modo perceptivel a disposio vertical
externa pela feitura das fachadas, desenhando uma a uma, sobre o
plano considerado a partir das idias das disposies postas na plan-
ta baixa e nos cortes, as quais tm influncia nas idias das facha-
das. Como a da forma disposta horizontalmente, como a do volume
posto no corte, a das propores desse volume, das suas dimenses
da idia de cobertura, dos elementos do sistema estrutural que mar~
quem presena na fachada, do reservatrio d'gua e de todas as
demais referncias altimtricas derivadas de referncias horizontais.
O projetista pode observar que a feitura da fachada pode ser
facilitada pela utilizao dos clies corno base do seu perfil. Cada
corte periila duas fache.das: a~~que esto dispostas nos planos para-
ie!os ao seu, apenas invertendo o sentido das observaes. Uma
fachada esi.ar no verso do corte, a outra. no anverso. No croquis 5,
pgina i30, v-se que 0pedi! dO corte, o plano (4), idntico ao das
fachadas contidas nos planos (7) e (8), bastando inverter o sentido da
observao e o mesmo acontece com o plano do corte (5) e os pia-
nos das fachadas (6) e (9).
189
!
I
j
Recprde-se que, nos planos verticais, a representao das idias
entendida como a vista pelo observador, situado teoricamente no
infinito, para que sejam representadas integralmente, semdistoro,
asimagens frontais dessas faces. Porma face do edifcio pode no
ser parte integrante da mesma superficie plana e ter partes salientes
e reentrantes, frente e atrs. Para representar essas diferenas de
posio de elementos da face do edificio no plano dafachada einfor-
mar mel.hor sobre as idias dessas partes na linguagem feita no pIa-
no vertical, desenha-se comtraos fortes o que est nafrente ecom
traos fracos o que est atrs, para com isso transmitir a noo de
proximidade e afastamento. Quando se quer dar realce a essas dife-
renas, usa-se tambm o recurso da sombra. Outra observao
que, nas fachadas, no aparece seo do edificio, porque o plano
no o sanciona, nemse projeta parte no vista pelo observador.
Prossegue-se a disposio vertical externa, introduzindo-se as
idias produzidas em funo das variveis pertinentes a esses pIa-
nos, ainda no cogitadas. Essas variveis dizem respeito especial-
mente aos aspectos estticos do partido. o trato dos valores est-
ticos aplicados arquitetura.
Ressalte-se que as consideraes feitas aqui sobre esttica, na
idealizao das fachadas, visam mais orientar o raciocinio no modo
prtico de lidar comas variveis mais significativas para as hipteses
de disposio do partido, do que estabelecer ou ditar regras de con-
ceito e contedo estticos. Trata-se mais de questes objetivas do
que subjetivas.
Uma das principais questes objetivas. no trato da disposio da
fachada com relao aos aspectos estticos, aque resulta das con-
sideraes sobre o volume do edificio edesuas propores. Ao idea-
lizar a disposio da fachada, o projetista se defronta com uma de
trs hipteses de proporo do edifcio: aque valoriza averticalida-
de, quando o edificio tem muitos pavimentos; a que valoriza a hori-
zontalidade, quando o edificio tem poucos pavimentos e aquela em
que as propores das referncias planialtimtricas so iguais ou
prximas. A situao encontrada, seja aque for, requer do projetista
decidir o tratamento facial aser dado fachada para obter ainteno
volumtrica que deseja, segundo urna dada opo esttica. No plano
geral das consideraes formais. isso significa tomar uma diretriz,
fazer uma escolha. entre acomodar ..se s linhas predominantes das
prap.ores encontradas ou, pelo contrrio, sair da acomodao para
reali;ar uma das dimenses encontradas, valorizando umdos senti-
dos, de horizontalidade ou de vertical idade, para obter efeito predo-
minante da proporo de uma sobre aoutra dimenso. Esserealce se
aplica a qualquer das situaes encontradas nas propores da
fachada e visa atenu-Ia ou. real-Ia ainda mais. A opo adotada
190
ser ~idia dominante da idealizao da fachada evai influir na dis-
poslao dos demais elementos integrantes dela. .
. Outra questo objetiva no trato das fachadas a do modo de
dl~por os elementos construtivos que as constituem, como as super-
flcles das paredes externas, 'considerados como os elementos
"cheios" da fachada, e as envsaduras (portas, janelas etc.), consI-
deradas como os elementos "vazios". Otrato desses elementos, indi-
Vidualmente ou emconjunto, essencial na idealizao da fachada
para dar-lhe feio e carter. O tratamento dos "cheios" e dos "va-
zios" da fachada envolve algumas consideraes. Quando o projetis-
ta Ide~llza a planta baixa j deu inicio ao raciocinio da possivel dis-
poslao desses "cheios" e "vazios" no plano horizontal, colocando
nele as paredes externas e as envasaduras. Mas a disposio desses
e~ementos na planta baixa no o suficiente para resolver a disposi-
ao da fachada, porque nesse raciocinio, nemsempre se consideram
todas as variveis que influem na disposio vertical. Considerou-se
a~a orientao quanto ao sol, para atender s exigncias de i1umina-
ao natural dos cmodos; aorientao quanto aos ventos, para aten-
der ao conforto trmico obtido pela ventilao; as exigncias de
ordem legal que estabelecem a relao de rea entre as envasaduras
e os cmodos; s exigncias de aberturas destinadas aos acessos ao
interior do edifcio. E assim por diante. Provavelmente. considerou
tambm a posio desses elementos, os "cheios e"azios", com rela-
o disposio interna das funes, das circulaes, dos mveis e
dos equipamentos utilizados.
Na idealizao da fachada, as consideraes dos "cheios evazios"
so diferentes das fetas na planta baixa. necessrio consider-los:
como elementos integrantes de uma superficie, de um painel - o
plano da fechadura - que deve ter tratamento esttico de conjunto,
pelo. trato desses elementos, combinando-os, ontrastando-os, pro-
porcionando-os emvista da idia do volume epropores do partido.
Enfim, usando os valores estticos desses elementos como os das
SUS reas, das suas propores, das suas formas, do ~mero de uni-
dades, das posies deles no painel das caracteristicas peculiares
dos materiais escolhidos para cada um, das texturas desses materiais,
das suas cores etc., tudo isso para obter o efeito esttico desejado
da fachada. .
Tratar esses elementos - os "cheios e vazios" -, com todas
essas variveis envolvidas e obter o efeito esttico desejado o tra-
balho maior de dispor O partido nos planos verticais. Esse trabalho,
que parte importante da adoo do partido, deve ser feito, espe-
culando-se, com a idealizao, a correspondente expresso grfica
d~vrias alternativas de disposio da fachada, tendo emvista que
ha sempre, para qualquer caso, uma infinidade de possibilidades vi-
191
j
veis para se optar por uma delas. Basta especular com variaes dos
elementos integrantes da superficie do plano, comb~.,ando-os o~
contrastando-os, variando as suas reas. sua~proporr,;:o9s: ~uas fOl-
mas, o nmero deles, as posies deles no painel, os m~terrals e suas
caracteristicas de tipo, textura, cor etc. A cada varraao dess_esele-
mentos corresponder uma variao enorme de dlspos,oes da
fachada, e, conseqentemente, conta-se com um elenco varrado de
- lha O exerccio de especuiar com esses elementos
opoes para esco . . .
. da o iniciante a desenvolver sua potenciaiidade. de Idealizar as
~u . apac'-
fachadas, da percepo subjetiva dos valor~s estetlcos,.e sua c
dade de expressar o partido num estilo proprro, subJ etivo. '.'~'.
importante lembrar que, pelas fachadas, ImaglnR.se o edlllvlO.
so elas que o representam. que o expressam. .' _
Uma das situaes mais encontradas para a dlsposlao das
fachadas, que se pode cizer critica, como um ~esaflo acapaCidade
criativa do projetista no sentido da cOmposlao do paln_el, e a de
idealizar a fachada que dever ter envasaduras emdlme~soes: pos~~
es as mais diversas como a que tem porta de acesso, J anela:::- gra
des e pequenos basculantes, conforme o concebido :,a pl8nta. e
obter um efeito esttico agradvel que revele a 'ntenao de beleza
em sua disposio no plano vertical. Emcasos como esse',h&que se
fazer especulao, dispondo o painel com vrias 8Iter~lttV.S: C? rr:-
binando ou contrastando formas de "cheios" e de : vazIos", Slmetrt-
cas ou assimtricas, tamanhos, alturas etc., aSSOCIando essas com~
binaes com as possveis posies desses elementos na planta, ate
obter a soluo satisfatria. ,
Nas envasaduras, conta muito a disposio das esquadnas., os
elementos que preenchem os "vazios" que deVEmser co~cebldos
especulando-se com alternativas que levam em consl,cteraao o tipO
da 8'squadria e sua finalidade TunclOnal. a orrentaao, a forma, o
tamanho, as propores etc. Do mesmo mod~ que se racIocina. a
relao "cheio" e "vazio", raciocina-se a esql'aorra,mantendo ~IDela
dominante, modulando.a de acordo com ela. e com as relaoes do
conjunto. A idia da modulao da esquadrt2, pensada na fachada
deve associar-se com a modulao da planfa. Sincronizando monlan-
tes de esquadrias com disposio de paredes. par::l C8sa.r lima ,dela
com a outra _,
Na idealizao da disposio vertical, toda opao adotada De
fachada, dentre as alternativas feitas, exige celiamente um trabalho
adicional de ajuste nos planos horizontais .das ,.delas po~tas nos .p~a-
nos verticais, decorrente do mtodo de raCIOClnlOdo partl.do no SIS,-
ma bidimensional de referncias, para sincronizar as lJi:las ~xpres-
. . 'f' "'er que so apos essa
sas nos planos ortogonais. Isso 'slgnl Ica OIL .. .
opo, que se deve desenhar as envasaduras e .as esquadrias na
192
r~~ p:~nla bai? <~~m o tipo, a m~dulao, a ~OSi~,o comprimento : ~
1- _ :; ; , . ,forma deflOltlva. . :- - - - . -
I-.~;,,~.' 'o Outras questes, alm dessas j citadas, podem envolver ainda o
~-.trill da fachad_s,. Dentre essas, destacam-se algumas a sguir: a
presena da cobertura nesses planos verticais, quando ela conce-
bida para ficar aparente, uma delas. Vista a cobertura pelo enfoque
~dasconsideraes de ordem esttica h que se reconhecer que, em
inmeros casos de adoo de partido, ela tem um papel importante
no volume do edifcio e marca presena significativa nas fachadas
dependendo, claro, do tipo de cobertura. Quando isso ocorre, as
consideraes sobre a disposio vertical externa do partido envol-
vem a forma do telhado, seu volume, o beiral que houver e as rela-
es dimensionais dele com as demais da superfcie do plano. Envol-
ve relacion-lo com os elementos da fachada, os "cheios" e "vazios",
as propores e o volume do edifcio etc.
. Os elementos do sistema estrutural podem tambm marcar pre-
sena na fachada, tanto no sentido vertical dos pilares, como no sen-
tido horizontal das vigas e lajes e serem integrantes das considera-
es dos "cheios" e "vazios", determinantes da disposio das
esquadrias, e ritmar o painel, com os seus elementos modulados,
influir no sentido de horizontal idade e vertical idade do volume e
emoldurar a face do edifcio.
O reservatrio de gua outro elemento construtivo que pode
. fazer parte das cogitaes sobre as fachadas quando ele fica acima
da cobertura. Nas cogitaes dos planos horizontais o projetista
idealiza a posio do reservatrio de gua na planta baixa, tendo em
vista razes de ordem ;'J ncional, buscando localiz-lo de acordo com
as exigncias tcnicas para racionalizar a distribuio de gua nas
instalaes hidrulico-sanitrias dos diversos cmodos do pavimento
onde elas esto e, nos cortes, idealiza sua posio vertical para que
ssa distribuio se faa de modo tecnicamente adequado. Nas
fachadas, as consideraes sobre o reservatrio de gua, diferente-
mente das plantas e dos cortes, referem-se em especial ao aspecto
esttico, o de sua presena como elemento construtivo do volume do
edifcio e parte do painel da fachada.
Como a disposio do reservatrio envolve raciocnios tcnicos
e estticos feitos nos planos das idias do partido. na planta baixa,
nos cortes, nas fachadas e na cobertura, a sua idealizao deveria ter
comeado nos planos horizontais e continuado nos planos verti-
cais. Se ele s' cogitado, porm, nos planos verticais, certamente
exigir ajustes nas idias dos outros planos. Do ponto de vista da
viso esttica, a disposio do reservatrio no partido, tanto pode ser
sob Otelhado, quando se opta por escond-lo para no ter presena
no volume nem nas fachadas, quanto estar sobre o telhado fazendo
193
I
... ,_J
.., :~~
__ o -
,4<"
-. o: ' ~ - . - . _'
~.~.
..~. ~~: ~
, .-
I
~D' ~PO$Il;;;O t. . V. ~. H 5: x
""d. . AIIO to", "~I. : ' ll"' ' ' ' IJt>A
L""' FClll. L ;. (OHI>"Nl
" l~. C1. . \"' ' ' ol>t: o ' r: . . . . v. ro
JlfS"O$olo : . . t5Qt. I' " : ' luA
blS' ' O~' fiiC 00 ,", u~o (OI-<o
Tt: : L"U,O(I [s: co. : >\oo
~+~-
.. ,
1>1S.~Sl'iotoei. !. ruuCloiTbS Uo "Tc'"Qcro
!: OI,. Tot DOP""\II"' ~O J Prt!n: ~
(l.1 7
I, 'U:
. j, ~f'.! ! 'i 1 I'
, . . c--DISflOSIC, O 00 ,e\. l-IA\)O A:>.~"N"T
,,' 0: ' ~Il , .1'II;.! iJ , _
t>1~I' OSI"' O OQ "' ~L""' \)C
. ~ C' OM t' . . "Tli~ Io. ' f' A l-Io. TQIO. l
Aeo"' \J>"' ' ' ' >-I' ' ' ' ' ' OO .
,<,JC. l. tNA. <>="O toe T' ElLlA!)O
PI:.AR. - - i/I
I.
llISol' U,l. IC;O1>"""
!OUll,t>~Jl. s.
c) fACHADA SUDOESTE
b) FACHAOA SUDESTE
Pl~~S~~N.
J' J,Q: p" ""' ~l
' . 1 ,. "
D1$~' C. . : o1>"
F' ACi l P' : ' l<: I: t>" -
c}FACHADA NOROESTE
IDE"IAS DA DISPOSIA'O VERT CA ., I L EXTERNA DA CASA DE vERANEIO
d) FACHADA NOROESl E
bISPO{' IC(. r ,
F"' . e. E. w : ~. . . ~,,;;.
em
L- . . _
Vamos aos exemplos:
Da casa de veraneio. Ocroquis 18, pgina 195, a expresso
grfica de idias da disposio vertical externa atravs das quatro
faces do edifcio, as fachadas. Nelas esto representadas, implcita e
explicitamente, os raciocinios anteriores que influram nas disposi-
es dessas fachadas e os originrios delas, as diversificadas consi-
deraes de ordem esttica, numa sntese final que resulta da espe-
culao com inmeras alternativas de soluo e a escolha de uma
delas. Nesse croquis esto desenhadas as opes feitas para cada
J ma das fachadas. .
Da igreja. Ocroquis 19, pgina 196, a expresso grfica das
idias da disposio vertical externa com as quatro faces do edifcio,
as fachadas. Como no - exemplo da casa, neste, esto representados
os raciocnios da adoo do partido que influem nessa disposio.
A idia dominante foi a de expressar simplicidade construtiva, tendo
194
parte C\avolumetria do edifcio e marcando presena na vso exter-
na. Neste ltimo caso, a disposo do reservatrio pode ser imagi-
nada, ora numa posio discreta, recuada da face do edifcio, para
no interferir nela, ora pode ser com presena na fachada, e ora
como elemento destacado do edifco frente de uma das suas faces
para valoriz- lo. Cada opo dessa envolve consideraes de ordem
esttica que exigem tratamento adequado, desde o da sua posio
no edifcio at o de sua forma, suas dmenses, suas propores, da
textura do material de revestimento. etc.
A textura do material utilizado nas paredes, nas esquadrias, nos
elementos do sistema estrutural, na cobertura, etc., podem servir
tambm de elemento importante para completar a feio e o carter
do edifcio e embelez- lo. Essa outra questo a considerar no trato
da fachada. Embora esse seja umassunto que pode ser cogitado na
etapa de desenvolvimento do projeto, algumas indicaes bsicas do
tipo e da textura dos materiais podem fazer parte das idias do
partido.
A fachada como elemento facial tambm pode ser tratada como
um indicador externo da expresso interior do edifcio. Iss pOder
ocorrer quando se relaciona a forma com a funo e a disposio
geral da planta (movimento, ritmo, regularidade etc.), tiver corres-
pondncia nas fachadas, na cobertura e no volume como um todo.
A fachada pode tambm ser tratada, alm de tudo o que j foi
dito anteriormente, como o elemento do edifcio que serve para
expressar um estilo arquitetnico representativo de uma poca, de
um momento cultural, cientfico, tecnolgico, da sociedade, diferen-
ciando- o de outros estilos expressos emoutras pocas e emoutros
estgios culturais da humanidade.
--;;_.
.~ . .
um carter peculiar que a distinguisse das demais construes do
entorno e denotasse a funo e seu significado.
Exerclclos teis sobre disposio vertical externa:
I
I
1 - I dealize as fachadas da casa de veraneio, Gonsiderando
razes de ordem esttica diferentes das idealizadas no croquis 18.
2 - I dealize as fachadas da igreja, considerando razes de or-
de.mesttica que no as idealizadas no croquis 19.
3 - Especule sobre diversas alternativas de disposio vertical
com os exerccios 1e 2, considerando o telhado escondido.
4 - I dealize as fachadas da escola do 1 grau exemplificada no
texto, optando dentre vrias alternativas e dentre vrias considera-
es de ordem esttica.
5 - I dealize fachadas de edificio conhecido, especulando com
diversas razes de ordem esttica e tecnolgica.
6- Verifique os ajustes que devero ser feitos nos planos hori-
zontais, especialmente na planta baixa, de cada umdos temas cita-
dos nos exerccios anteriores, quando as fachadas so idealizadas de
modo diferente.
Dl~~lciO tJ"'!-SQW.bQIA~
P\~100 tlo reQ.QL1oJO
CROQUIS 19
IDIAS DE DISPOSIO VERTICAL EXTERNA DA IGREJA.
o) FACHADA. NORDEST E
b) FACHADA NOROESTE
c)FACHADA SUDESTE
d J FACHADA SUDOESTE
E"'!iCP,ll:l. C!.1'U':(1"ltl'\
01'2. !l4~..... 10
" li I I '
197
,
10 - AJUSTE TRIDIMENSIONAL DAS IDIAS
10.1 - Ajuste das idias
A adoo do partido arquitetnico feita no sistema bidimensional
de referncias grficas, segundo o mtodo exposto neste texto,
requer a realizaco de ajustes nas idias postas nos planos,para sin-
cronizar as idias dos planos horizontais comas dos planos verticais.
e vice-versa e, assim. obter-se.a sintese tridimensional do edifcio.
Esses ajustes se justificam porque as decises adotadas emcada um
dos planos do sstema podem produzir novas idias e induzir a modi-
ficao nas decises adotadas ,(lOS demais planos, como umproces-
so de aprimoramento da idia do partido.
Quando o projetista idealiza a planta bail\,a, por exemplo, est
raciocinando num dos planos hC)rizontais e est tambm assumindo
compromissos com relao aos"demais planos; tanto os de situao
e de cobertura, quanto os cortes e tachadas, Por outro lado, quando
ele est idealizando as fachada,s, est tambm; disp,.ondoelementos
do edifcio que tmrelao coroaS idias'postas nos'planos da plan-
ta baixa, dos cortes eda cobertra, Ento, acada plano idealizado do
partido, haver de surgir algum t'ipo de ajuste nos demais planos. Por
isso que se torna importante O ajuste das idias, qualquer que seja
a ordem de raciocinio da adoo do partido.
O treinamento induzir certamente'o p'rojetista a raciocinar a
cada passo do processo de adoo do partido com as variveis ine-
rentes ao plano cogitado eantever as conseqncias que adviro das
decises adotadas nele com relao aos 'demais. Quanto mais habili-
tado estiver o projetista a fazer s associaes de idias nos diversos
planos do partido, mais ajuste~estar fazendo, e planejando melhor
na arquitetura. . 'I" "
J nos referimos anteriormente que o ideara ser perseguido na
adoo do partido o de imagipar'se 'o editcio conjugando todas as
variveis envolvidas simultanefimente. Quando isso ocorre, certa-
mente deixa de haver necessidade de ajustes. pelo menos nos as-
pectos mais significativos do ~rtido, mesmo que aadoo seja feita
198
no sistema bidimensional de referncias, porque a todo passo dado
no mtodo, esto-se associando idias de vrios planos.
O mtodo de adoo sugerido aqui, que permite ao'projetista
raciocinar o partido em partes, requer certamente procedimento de
ajustes das idias expressas nessas partes, para conseguir a sntese.: '
arquitetnica com todas as idias associadas. Ao racio4nar a'Planta .
baixa, o projetista deve associar, Wincipalmente, idias de forma do
edifcio, de cobertura, de sistema estrutural, de situao, de:l:igaes .
verticais e de!fachadas. Ao raciocinar as fachadas, deve associar
idias de disposio das esquadrias na planta, de cobertura, de sis-
tema estrutural, de forma etc.. Ao raciocinar os cortes, deve associar~
idias de conformao espacial dos elementos do programa, e os de
ligao vertical postos na planta. como os de cobertura ede fachada.
Os ajustes das idias so, portanto, os liames que associam as
idias dos vrios planos para o encontro da sintese arquitetnica. No
mtodo de adoo sugerido aqui, esto explicitadas essas possibili-
dades de associao de idias nos raciocinios de cada plano.
10.2 - Outros ajustes
Como idia preliminar do projeto, o partido pode carecer de ou-
tros ajustes nas idias nele postas, mesmo depois de feitas todas as
consideraes do mtodo de-adoo. Ajustes decorrentes de consi-
deraes de ordem tecnolgica at ento no cogitadas. Pode-se
referir ora a"deci'Ses "de aspectos construtivos que serviro para
definir melhor e com mais preciso as idias j expressas, como as
concernentes ao sistema estrutural, cobertura, s instalaes espa-
ciaTs,equipamentos e materiais a serem usados etc..
I:: no partido' que se devem proceder aos ajustes de toda ordem
das idias, para que as alteraes bsicas sejam feitas antes do
',desenvolvimento 'final do projeto.
Antes do incio do desenvolvimento do projeto, cabe adiscusso
da idia do partido com a clientela, para verificar a conjuno das
dias do projetista e da clientela quanto ao edifcio e, se for o caso,
proceder aos ajustes que decorrem dessas idias confrontadas.
Cabe, tambm, antes do projeto ser desenvolvido, fazer os ajus-
tes que sero envolvidos com os projetos complementares.
199
l.
201
REFERNCIA.S BIBLIOGRFICAS
1 - BROADBENT ",I alH. Metodologia dei diseflO arquitect6nico.
Barcelona, Gustavo Gili, 1971. (col. Arquitectura y Critica).
2 - CARVALHO, BA Tcnice da orientao dos Edificios. Rio
de J aneiro, Ao Livro Tcnico, 1970.
3 - CENTRO BRASILEIRO DE CONSTRUES E EQUIPAMEN-
TOS ESCOLARES - CEBRACE. Espaos educativos e equipamentos
para a formao especial no ensino de 1~Grau. Rio de J aneiro, MEC,
1978. (Equipamentos escolares, 2).
4 - ------ Planejamento de rede escolar: proposta
metodolgica; rede escolar urbana, 1~grau. Rio de J aneiro, MEC,
1981. (Rede escolar, 1).
6 - ------. Terrenos destinados a construes escola-
res. Rio de J aneiro, MEC, 1978 (Prdio Escolar, 2).
7 - CHIGIR, Margarita. Curso de desenho de arquitetura. Rio de
J aneiro, Graf Tec: Grfica Editorial, 1979.
8 - COELHO NETTO, J . Teixeira. A construo do sentido na
arquitetura. 2~ed. So Paulo, Perspectiva, 1984. (Debates, 144).
9 - FONSECA, Maral Ribeiro da. Desenho Solar. So Paulo,
Projetos Editores Associados/IAB - Ba, 1982.
10- MACHADO, Ardevan. Desenho na Engenharia e Arquitetura.
So Paulo, A. Machado, 1980.
11- MACHADO, Isis Farias, calab. Cartilha: procedimentos bsi-
cos para uma arquitetura no tr6pico mido. Brasilia. CNPq/Pini, 1986.
12 - MASCAR, Lcia Raffo de. Luz, clima e arquitetura. 3~ed.,
So Paulo, Nobel, 1983.
13 - MONTENEGRO, Gilda A. Desenho arquitetnico. 2 ed. So
Paulo, Edgard Blcher, 1985.
14 - NEUFERT, Ernest. Arte de projetar em arquitetura. So
Paulc, Gustavo Gili do Brasil, 1978.
15- OBERG, L. Desenho arquitetnico. 2 ed. Rio de J aneiro, Ao
Livro Tcnico, 1974.
16- PEREIRA, Ademar. Desenho Tcnico Bsico. Rio de J aneiro,
Francisco Alves, 1976.
200
r~:.,~ ...
-. :E-
i .- ,-~-
,
i'-'..
I .
! ..:_ ~:."
17- PORTAS, Nuno. Funes e exigncias de rea de habitt;.:- '"
Lisboa, Laboratrio Nacional de Engenharia Civil, 1969.
18- PROCK, Emile. Dimensionamento em Arquitetura. J oo Peso.
soa, Editora Universitria da UFPB, 1984.
19 - RIVERO, Roberto. Arquitetura e clima: acondicionamento
trmico natural. Trad. J os Miguel Aroztequi. 2 ed. Porto Alegre, D.C.
Luzzatto Editores, 1986.
20 - SILVA, Elvan. Uma introduo ao projeto arquitetnico.
Porto Alegre, Editora da Universidade, 1984. (Livro texto, 23).
21 - SILVA, Radams Teixeira da. Arquitetura e energia: uma
tecnologia de projetos. Belo Horizonte, Universidade Federal de Minas
Gerais, 1981.
22 - SNYDER, J ames C. & CATANASE, Anthony. Introduo
arquitetura. Trad. Heloisa Frederico. Rio de J aneiro, Campus, 1979.
23 - UNESCO. Comisionado de cooperacin tcnica. Coorde-
nacion modular en vivienda: New York, 1966. (Informe TAO/GLOBAL, 4).
24 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. Faculdade de Arquite-
tura. Seleo do terreno para a construo das instalaes da Facul-
dade de Arquitetura da Universidade da Bahia. Salvador, 1960.
25 - VALENTE, Magno Santos Pereira. Conforto trmico emSal-
vador. Salvador, Centro Editorial Didtico da UFBA. 1977.
26 - ---- . Insolao dos edilicios emSalvador. Sal-
vador, UFBA: Grfica, 1970.
~I
"
I
...~ ':;=T ;;j
:
U N I V E R S I D M E F E D E R A L D A B A H I A
C E N T R O E D I T O R I A L E D I D T I C O
L I V R O P U B L I C A D O S
1986
A Lei- do" Di.-vJl.c.io e o Novo Reffime Le.g.a.l. de B efl4 /to
Bll.a~i-l (2" tiragem) - P edro M an"'r'l C abral.
ManuaL de FL4.LQ.(0J;..i..a. NeItVo,'H! V. 1 (4' trsszem) Jayme
Band~i r a Sant os .
/fI(J1'IlJ.ai de F.i4i...o1.o~a JVeAVO-1Q V. 2 (3
11
tiragem) - Jayme B andei
r a Sant os .
f',.. r1clpJ..04 e.ll.aL" do 'Pltepalto dil Cavi..dade-'J (2'tiragem)
- Ger mano T8b~cof .
Jt;lpO,A...i..amo L'7taLLo,lto V.f (31 tirag~m) ..E ugenia M l1ria Ga
+~~f ie Maur o Por nu1
a440La eoL~.i..ca {3r.utOfl (31 tiragem) - S hiquemi F uji~.
r i e out r os
Rev:i.4ta "U'l-i..veIt4i.ta~" Cu.J.tU4.Q itR 35 - D iversos auto
r . e6.
Li;ae.4 COM C ottE !ctO lte4 em e-1tltu.t/J.ltad met. .. U.caA- C al'
l os Emi l i o de Menezes St r aueh.
Jma~~ e ?~lte~lt.ittao na Cu~tulta C4.i..,,{a: um e4boo
in:/;.ltodutlti.o - P edr-o A gostinho.
I
I
CLabolt.ao
O Jl..lr ! .n .tao
r a de Mel o e
1987.
de r ao~eto4 de ?edau~da em eo9lt.alia:uma
Bar bar a- Chr i s t i ne Net wi ng e Syl vi o Bande~-
S ilva.
An .e4te~LaP a~c~a~em O don toLo~La
de Car val ho,
Joo Gonalves
i;';-J-"'''~
.-..,.~~~-:{=~~ "
Jmpalti..amo L I JtaLi..ano V. 1 (2' -E di) _ E ugenh. M aria Ga
l ef f i e M~ur o Por r .
Jmpa~1..amo [I J ia1.i..ano V. 3 _ E ugenia M etia Geleffi N arci
s i e Maur o Por r u.
V oc abuL I t.ia de P~a4Ltolo~~dLc a - Al ber t o Ser r eval l e.
Saude. CIt.Lde e 'Refoll.ma~ Ja'r:'lilscn S ilva P aim"" C ole
o Monogr f 1ca Rei t or Mi guel Cal mon n~ 2.
A cc;~Au F Jl.a~ai..4 Jn .~tJl.umen .ta~ - r ] g edio, 2~T i..
Jz.a{fem I A ldaisiE l N O V 6e$ S .-.::hwebel M aJ"ia Jos de A len.car
Pas s os e Mar i a Lui za Medei r os Gui mar es ,
7?el'M.{Q ilfl.(.VeA,lJUQ,IJCul.A..u.lw fl!' 37 - Vr i os aut or es .
Ap../..i..cae,IJ do C1.cu../..o- - tI. 2- Ant oni o Andr ae Souza.
f
ambntal: 1
edi o 2~t i 'PIl.i..n.clp.i..o,IJde AcJm.;..n..uuAao {2'
Lacer da Ramos .
' R U / l . a l . :
Eduar do
3mpv~tncia da'eologLa no,IJ e4tudO,IJ de ~pn<to
a b a e t - . u m e x e m p J . . o - Paul o Eduar do Avanzo
Manual de Fi..Aiolo~a N~cvo,IJa v. 2 ( 4~ t i r agem) J ayme Bandei
Economia
ra ge m ) -
Revi,IJta Uni..ve.I/.,lJii..Q.,IJ - Cinc.i..a nS! }8 - Di ver s os Aut or es .
r a Sant os . -
CUI/.,IJOde Topo~r.a/i..a - Lui z Edmundo Kr us chews ky Pi nt o.
Doi..,IJ[,lJtudO,IJ ,lJo6rceo 'POll.tupu.IJ Ka~aYUl/. - Ros a Vi r gi ni a
tos e Silva
V.3 - Ant oni o Andr ade Souza.
V. 1- Ant oni o Andr ade Souza.
Apl~cae,IJ do Clculo
l i Cincia no,IJ ../..ivl/.o,IJ di..dtico,IJ - Uel s on De Luca Pr et t o
(Co - e dio com a Edi t or a da UNI CAMP) ,
li CJ..et:iA.ada f.Jiolo[Ji..a 'ta raC:~ll..dQded.e f'rJed.i..cifta da 8ahi..a
1815 - 1 970 - J C2 Si , mes e Si l va J r . ( Col eo monogr af i ea
Rei t or Edgar d Sant os n~ 05) .
R(;;~.-i,IJ.t'Q Univ07.,lJiJ..Q,IJC!J7.ua,IJ flg 36 - V, i os aut o, es .
tn,IJi.J70 da frJa:l..em:tJca, um p'I..Oce,IJ/Jocntr.e a expo,IJiao e a de-1 -
cob(,A.to - />lBrtaMaria de Souza Dantas.
frJanua-l de. ri ../J,{o-lo)./.:aNwtvo,IJO [,I. 1 - (5' Ti r agem) J aj . ' me Ban-
ei r a Sant os .
Jmpo_.omo L '.'itoli.an.o v. 2 - (3~Ti r agem) - Eugeni a Mar i a Ga
l ef f i e Maur o Por r u.
?1 /.i.n.c~pio,IJel/.ai..,IJdo PrcepaJI.ode Cavi..aade,IJ - ( 3~Ti r agem) Ger
mano Tabacof .
I
i
I
I
I
Dive/l./J.i..dadc do [XJ/l.f.U..Q1 1 Mdo 8rca",i...L: C4.w(~0,IJde di..aleu-.o.l.o,Q.i..a.
~/I.a1 e oui/l.o,IJ - Car l a t a Fer r ei r a et al o
4nti..in.tlamat/1 .i...o,IJ no c,IJtCll..i..de4( 2! t i r agem) Lui z Er l on Ar a
j o Rodr i gues .
Manual.. de F.i.Ai..oLo.Q-i...a NCIl'vo-1 o. V.I ( s r , t i r agem) J ayme Bandei r a
Sant os .
laboll.ao de. p/l.ojeio,IJ de peAqu.i.Aa emeog.;z.atia: ama OI/.V1 .-t:a
o - Br bar a Chr i s t i ne Nent wi g Si l va e Syl vi o Bandei r a de
Mel l o e Si l va ( 2! edi o) .
1988
0",- 'P1 l.i.i,/C.ir.,o,IJ f.empo,IJmedi..evai.,IJ: Os r ei nos Ger manos -
F, ei t as Ol i vei r a.
Wal di r
'Revj~ia Un.i..ve/l.4ita,IJ n 39 - CuituJl.a - Di ver s oS Aut or es .
rlIfIla,IJ PQ//.Q ConC/l.eto - Ant or o Car l os Mas car enhas ( 2!
gem)
t i r a
'f!.cdefi.Jli..(~L1 concei:t.uaL do,IJ CoLp...i..o,IJ de ApLi.cao - Zilma Pa
r ent e de ~a, r os ( Di s s er t aes , n2 3).
1989
Do 'Ponto, Da Reta, Do 'PLano - Car l os Gent i l Vi c1- - ; : . J . (3!ti..r""age-nJ .
rl,IJi..ca crca-l c xpe.l/.i.men.taJ.. JV - Fr anoi s e Pompi gnac e ou-
t r os ( 3~Ti r agem) .
Doi-1 c,IJtudo,IJ a:~o-6~Q,lJiLeill.o,IJ - Or dep Ser r a.
Comunicao e CQpi..f.a~~o - Ant oni o Al bi no Canel as Rubi r n.
F.r,;na/Jparca Concrce.to - Ant oni o Car l os Mas car enhas .
Anf.i..-i..n./Lamat/1 .io,IJno Mte.l/.i..dM - Lui z Er l m Ar aj oRodr i gues .
e
Ol i
Eugeni a
n9enha~ia de [~tl/.ada~ - r~ojeto feomf.rcico - Lui s Cr l os A
de .t,. Fontes
Homem'RUI/.aJ.. NOMe..IJi:...i..!lO: prcopo-1 ta pG/l.a o",eu de,IJeflvoLvi.men.to-
Li ei a M. Senna Bor ges de Bar r os e Ar l i ndo Br aga Senna.
D~a9!l,IJti.co BucaL J - " Mar condes Quei r oz Ol i vei r a.
Ull.aniJ-ao e f't1 e.t.lZopo.Li..J-ao no [-1 .tado da 8ahi...a: evoluo
din~ni..ca - Syl vi o C. Bandei r a e Mel l o e Si l va, S~i a de
vei r a Leo e. Bar bar a. Chr i s t i ne Nent wi g Si l va
Jmpa-uamo L' Jia.Li..ano V,1 (2 [d,..io -' 1 T i.AaemJ _
Mar i a Gal ef f i e Maur o POr r u.
do Antnio do 'PQ~ag.uau e oConveJ7.to de so r_,-QJ1 U-1 CO
- Fer nando Fons eca ( Col eo de 3t udos Bai anos ) .
S a n . t o
Conde
-...~--.-- ;}:.. ~-";:-:~
l.
tft~ieto. da~ 4"",aduft~ de V~9a<""ConCAeto ~",~adolDetaJ.hajw,
~O Lon~tudLna~)- Moaci r Lei t e
?r.opedutica cLl niea - Eul ~gi o M. Cal das ( ~~ Ti r agem)
'il/l.
o
blema-1 de (rjet.vdol09-i.a rt:1,: Ci.enci.a-1 SL'u.a.i.4 - Diversos Au
tores (Organizao Walney Sarmento).
r.i.r: ! .a.'-g ..o4 e Va \ ue.i,; w-1 - E-.:.;~ic:oAlves BO.8vent.uri'l
iifllma"" pall..Q Conc1eto - Antonio Carl.os 1>l<.'"scarenhaR - 3! Tiragem
Cu/I.,jO de /upv.Q,/i.tt; 1 - Luiz Edmund, Kruschewsky Pinto - 2
Q
Edi
ao.
4doao do PGr.A.i..d.ona 4/l.qui..te.tu/c(J - !.nert Peclreira NevE-~
i" f ~;J
[-t-},' ",\ ..".
., - .'
I mpr esso na Gr
f ica Universi tria do Centro Edl
t or i al e Di dt i co da UFBA, Rua B;
r o de Ger er noabo s/ n, Campus Uni
ve~si t r i o da Feder ao, 40. 000
Sal _ 3dcr , Bahi a, Br asi l .
I
I
I
"
Você também pode gostar
- Ral PDFDocumento27 páginasRal PDFmarechal100% (1)
- Curso de Copy - Marketing DigitalDocumento100 páginasCurso de Copy - Marketing DigitalJean SobrinhoAinda não há avaliações
- Diagnóstico Empresarial - ProntoDocumento30 páginasDiagnóstico Empresarial - ProntoMarcos Roberto Rosa80% (10)
- O Processo Criativo Para Projetar Obras ArquitetônicasNo EverandO Processo Criativo Para Projetar Obras ArquitetônicasAinda não há avaliações
- Aprendizagem em Ourivesaria PDFDocumento21 páginasAprendizagem em Ourivesaria PDFwagner_201060% (5)
- Questões Urbanas: Diálogos entre Planejamento Urbano e Qualidade de VidaNo EverandQuestões Urbanas: Diálogos entre Planejamento Urbano e Qualidade de VidaAinda não há avaliações
- Diálogos gráficos: Uma didática do ateliê de arquiteturaNo EverandDiálogos gráficos: Uma didática do ateliê de arquiteturaAinda não há avaliações
- Planilha EVE 4.0 3anos DemoDocumento214 páginasPlanilha EVE 4.0 3anos DemoPriscila KidsAinda não há avaliações
- SICG - Modulo 3 - Ficha 2 - Cadastro Arquitetura - 09092008Documento2 páginasSICG - Modulo 3 - Ficha 2 - Cadastro Arquitetura - 09092008amigoduduAinda não há avaliações
- Tese AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DE EDIFÍCIOS DE Escritorios Brasileiros Diretrizes e Base Metodologica PDFDocumento334 páginasTese AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DE EDIFÍCIOS DE Escritorios Brasileiros Diretrizes e Base Metodologica PDFrwurdigAinda não há avaliações
- Aula 8 - Inventário Histórico ArquitetônicoDocumento27 páginasAula 8 - Inventário Histórico ArquitetônicoPaula Maria Magalhães TeixeiraAinda não há avaliações
- Produção Do Espaço Urbano Seguro Em Curitiba:No EverandProdução Do Espaço Urbano Seguro Em Curitiba:Ainda não há avaliações
- Canto BeltingDocumento5 páginasCanto BeltingCamila ZaponiAinda não há avaliações
- 303 Tres Tratadistas Da ArquiteturaDocumento18 páginas303 Tres Tratadistas Da ArquiteturaAna Paula AlcanforAinda não há avaliações
- Arquitetura Da Cidade E-BookDocumento337 páginasArquitetura Da Cidade E-BookGabi GabrielaAinda não há avaliações
- Aceleração Pocket - Trilha PRODUTO - Dia 1Documento51 páginasAceleração Pocket - Trilha PRODUTO - Dia 1RH EmbrapiiAinda não há avaliações
- Densidade UrbanaDocumento22 páginasDensidade UrbanaGiana Cristina da SilvaAinda não há avaliações
- Administração Participativa - Slides - PDFDocumento8 páginasAdministração Participativa - Slides - PDFElino LuckAinda não há avaliações
- Habitação de interesse social sustentável: um modelo em GuaíraNo EverandHabitação de interesse social sustentável: um modelo em GuaíraAinda não há avaliações
- Praças & Parques - Diretrizes de Projeto - Aula de Paisagismo PDFDocumento4 páginasPraças & Parques - Diretrizes de Projeto - Aula de Paisagismo PDFagnaldoAinda não há avaliações
- Slide Projeto Urbano - Proposta de IntervençãoDocumento24 páginasSlide Projeto Urbano - Proposta de IntervençãoKatherine CostaAinda não há avaliações
- FAR112 Apresentação v2Documento23 páginasFAR112 Apresentação v2Raiza MonteiroAinda não há avaliações
- Apostila Fund Projeto Arquitetonico Unidade 06Documento24 páginasApostila Fund Projeto Arquitetonico Unidade 06RosiAraujo2403Ainda não há avaliações
- Teoria e Prática Do Partido ArquitetônicoDocumento16 páginasTeoria e Prática Do Partido ArquitetônicoSérgio PrucoliAinda não há avaliações
- Brasília: O Desafio da Sustentabilidade Ambiental para o Século XXINo EverandBrasília: O Desafio da Sustentabilidade Ambiental para o Século XXIAinda não há avaliações
- Microsoft Powerpoint - Aula 01Documento67 páginasMicrosoft Powerpoint - Aula 01Tatiana Ghisi100% (1)
- Morfologia Urbana ConceitosDocumento53 páginasMorfologia Urbana ConceitosFelipe Felix100% (1)
- Questoes CPPTDocumento20 páginasQuestoes CPPTHelena Caldeira Franco Gomes100% (1)
- A Praça Colonial BrasileiraDocumento22 páginasA Praça Colonial BrasileiraIale CamboimAinda não há avaliações
- Relações de urbanidades em habitação de interesse social na cidade de Campina Grande - ParaíbaNo EverandRelações de urbanidades em habitação de interesse social na cidade de Campina Grande - ParaíbaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Estudos Da Arquitetura Escolar Espacos Educativos e Sua IntencionalidadeDocumento30 páginasEstudos Da Arquitetura Escolar Espacos Educativos e Sua IntencionalidadeDaiane t.sAinda não há avaliações
- Apostila - Geometria DescritivaDocumento100 páginasApostila - Geometria DescritivaJessika MarquesAinda não há avaliações
- A Construção Do Urbanismo ModernoDocumento20 páginasA Construção Do Urbanismo ModernoRaquel WeissAinda não há avaliações
- Resumos Fundamentos de GestãoDocumento19 páginasResumos Fundamentos de Gestãohuguitosilva1100% (1)
- Croquis de Concepção No Processo de Projeto em ArquiteturaDocumento13 páginasCroquis de Concepção No Processo de Projeto em ArquiteturaGiovani TeixeiraAinda não há avaliações
- Irpf TalitaDocumento5 páginasIrpf TalitaUploadMasterAinda não há avaliações
- Aplicação Dos Instrumentos Urbanísticos em São Paulo Limites e Possibilidades Do Planejamento Urbano - BOOK. E. C. Nobre.2021Documento315 páginasAplicação Dos Instrumentos Urbanísticos em São Paulo Limites e Possibilidades Do Planejamento Urbano - BOOK. E. C. Nobre.2021ALEXANDRE NASCIMENTOAinda não há avaliações
- A Economia Das Fraudes InocentesDocumento2 páginasA Economia Das Fraudes Inocentescrist_ina100% (1)
- A Presença de Camillo SitteDocumento14 páginasA Presença de Camillo SitteRaquel WeissAinda não há avaliações
- Planejamento Urbano e Regional - Texto 01Documento8 páginasPlanejamento Urbano e Regional - Texto 01Wilma Andrade Santos (Wilma)Ainda não há avaliações
- Goiânia by Attilio Corrêa Lima (1932 a 1935): Aesthetic ideal and political realityNo EverandGoiânia by Attilio Corrêa Lima (1932 a 1935): Aesthetic ideal and political realityNota: 4 de 5 estrelas4/5 (1)
- Günter Weimer - Inter-Relaçoes Arquitetonicas Brasil-AfricaDocumento37 páginasGünter Weimer - Inter-Relaçoes Arquitetonicas Brasil-AfricaClevio RabeloAinda não há avaliações
- NBR 9283 - Mobiliário UrbanoDocumento4 páginasNBR 9283 - Mobiliário UrbanoFamilia HeberAinda não há avaliações
- Habitacao FlexivelDocumento0 páginaHabitacao FlexivelFernanda Oliveira100% (1)
- Planta Baixa PDFDocumento102 páginasPlanta Baixa PDF8dori19Ainda não há avaliações
- DensidadeDocumento27 páginasDensidadeHomã AlvicoAinda não há avaliações
- Gabarito Atividades Arq. UniasselviDocumento13 páginasGabarito Atividades Arq. UniasselviThiago ChristopherAinda não há avaliações
- Abnt NBR 12219 NB 608 - Elaboração de Caderno de Encargos para Execução de EdificaçõesDocumento4 páginasAbnt NBR 12219 NB 608 - Elaboração de Caderno de Encargos para Execução de Edificaçõesdaniaquino2276Ainda não há avaliações
- TCC Modelo de Escola AcessívelDocumento89 páginasTCC Modelo de Escola AcessívelMARCOS PAULO CUNHA DE MELOAinda não há avaliações
- Tese Versão Final Nelson Diniz de Carvalho FilhoDocumento343 páginasTese Versão Final Nelson Diniz de Carvalho FilhoLuiz Córdova Jr.Ainda não há avaliações
- EDUARDO PIZARRO Intersticios UrbanosDocumento188 páginasEDUARDO PIZARRO Intersticios UrbanosOlivia MaiaAinda não há avaliações
- 9º PROJETAR - Volume 1 PDFDocumento679 páginas9º PROJETAR - Volume 1 PDFPaulo Eduardo Scheuer100% (2)
- Barbara FreitagDocumento5 páginasBarbara FreitagCarlos FreireAinda não há avaliações
- Resenha Rem KoolhasDocumento6 páginasResenha Rem KoolhasMorganaVendraminAinda não há avaliações
- Leitura de Projeto - Metodo de AnaliseDocumento25 páginasLeitura de Projeto - Metodo de AnaliseDébora PiresAinda não há avaliações
- Eap - Estudo de CasoDocumento22 páginasEap - Estudo de Casolhordonho100% (1)
- Intervenção Urbanística No Bairro Cohatrac A Partir de Princípios Da Sustentabilidade UrbanaDocumento111 páginasIntervenção Urbanística No Bairro Cohatrac A Partir de Princípios Da Sustentabilidade Urbanavivianalvesp100% (1)
- A Poética Da Luz Natural Na Obra de Oscar Niemeyer PDFDocumento12 páginasA Poética Da Luz Natural Na Obra de Oscar Niemeyer PDFPaulo André Dantas SilvaAinda não há avaliações
- Urbanização Areião, VL Estudantes, Sabesp e Monte Sião em SBC - Boldarini Memorial e Ficha TécnicaDocumento4 páginasUrbanização Areião, VL Estudantes, Sabesp e Monte Sião em SBC - Boldarini Memorial e Ficha TécnicaEllen Emerich CarulliAinda não há avaliações
- Impermeabilizantes para Edificações Construídas em Taipa - Aureoclesio Menezes de CarvalhoDocumento66 páginasImpermeabilizantes para Edificações Construídas em Taipa - Aureoclesio Menezes de CarvalhoConsultor BrêtasAinda não há avaliações
- Fichamento Cidades para Um Pequeno PlanetaDocumento4 páginasFichamento Cidades para Um Pequeno PlanetaNathalia da Mata100% (1)
- ReportorioDocumento46 páginasReportorioAna Gabriela FranklinAinda não há avaliações
- Metodologia de Ensino Arquitetura Inclusiva - PROJETAR 2003Documento13 páginasMetodologia de Ensino Arquitetura Inclusiva - PROJETAR 2003helen_arquitetura8907Ainda não há avaliações
- Resenha - Complexidade e Contradição - PDFDocumento3 páginasResenha - Complexidade e Contradição - PDFGabriela FrançaAinda não há avaliações
- Aula04planoconceitual 141003084733 Phpapp01 PDFDocumento64 páginasAula04planoconceitual 141003084733 Phpapp01 PDFAmandaSantosAinda não há avaliações
- Aula 1 - Urbanismo TáticoDocumento30 páginasAula 1 - Urbanismo TáticoMonica BarcelosAinda não há avaliações
- EIV CompletoDocumento100 páginasEIV CompletoBernardo EduardoAinda não há avaliações
- Tema 11 Patrimonio Natural Arquitetonico e ArqueologicoDocumento679 páginasTema 11 Patrimonio Natural Arquitetonico e ArqueologicolilianafrancAinda não há avaliações
- Noções Planejamento UrbanoDocumento14 páginasNoções Planejamento UrbanoGiordano AndriãoAinda não há avaliações
- Ebook Ergonomia Espaco Atividades Habitação PDFDocumento48 páginasEbook Ergonomia Espaco Atividades Habitação PDFHygor MesquitaAinda não há avaliações
- Desenvolvimento Tecnológico E Do Meio Ambiente DigitalNo EverandDesenvolvimento Tecnológico E Do Meio Ambiente DigitalAinda não há avaliações
- Seg. Social Trabalhadores DomesticosDocumento18 páginasSeg. Social Trabalhadores DomesticosAnabela SousaAinda não há avaliações
- ANÚNCIO DE VAGA - Assistente Pessoal Do PCADocumento2 páginasANÚNCIO DE VAGA - Assistente Pessoal Do PCAEmílio Alexandre Dj AnalfabetoAinda não há avaliações
- Diferença Entre Projetos Públicos e PrivadosDocumento1 páginaDiferença Entre Projetos Públicos e PrivadostaweissAinda não há avaliações
- Gestão de CustoDocumento48 páginasGestão de Custop2ueg0% (1)
- Guia para Melhoria de Processos - MGDocumento84 páginasGuia para Melhoria de Processos - MGFabio Lobato100% (1)
- Diário Oficial Do Distrito Federal de 17 de Abril de 2015 - Seção03 - 075Documento94 páginasDiário Oficial Do Distrito Federal de 17 de Abril de 2015 - Seção03 - 075maymoneroAinda não há avaliações
- Administracao Contabil e Financeira PDFDocumento140 páginasAdministracao Contabil e Financeira PDFrenatosrodriguesAinda não há avaliações
- capitulo3PaulaTorreao PDFDocumento24 páginascapitulo3PaulaTorreao PDFBlog da Engenharia de ProduçãoAinda não há avaliações
- Disponível para PromessaDocumento1 páginaDisponível para PromessaJCavalcanti de OliveiraAinda não há avaliações
- Bookmap PDFDocumento378 páginasBookmap PDFAdemir PeixotoAinda não há avaliações
- O Essencial .PDF - 20240130 - 112720 - 0000Documento9 páginasO Essencial .PDF - 20240130 - 112720 - 0000fmalta477Ainda não há avaliações
- Vendas O Guia CompletoDocumento26 páginasVendas O Guia CompletoMarcelino PinheiroAinda não há avaliações
- Plano - Aula 03Documento2 páginasPlano - Aula 03Rafael Augusto CoelhoAinda não há avaliações
- Planilha Pesquisa de SatisfacaoDocumento25 páginasPlanilha Pesquisa de SatisfacaoRafael SimbaAinda não há avaliações
- ### 10 Mandamentos Inovação Estrat (II) PDFDocumento86 páginas### 10 Mandamentos Inovação Estrat (II) PDFFranciscaMenezesAinda não há avaliações
- Técnica de Transporte e Guiamento TurísticoDocumento17 páginasTécnica de Transporte e Guiamento TurísticoFabricio Pereira Franco100% (1)
- Catalog PDFDocumento492 páginasCatalog PDFDaniela Zózimo SantosAinda não há avaliações
- 5 Passos para o Seu Negócio MMNDocumento15 páginas5 Passos para o Seu Negócio MMNJonatas LopesAinda não há avaliações