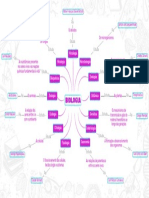Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Disser Ta Cao
Disser Ta Cao
Enviado por
SUELLEMRINKDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Disser Ta Cao
Disser Ta Cao
Enviado por
SUELLEMRINKDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Gustavo Caminati Anders
Abrigos temporrios de carter emergencial
Dissertao apresentada Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade de So Paulo, para a obteno do ttulo de Mestre.
Prof. Dr. Alessandro Ventura (Orientador)
So Paulo, 2007
Ficha catalogrFica
aUtoriZo a rEProDUo E DiVUlgao total oU Parcial DEStE
traBalho, Por QUalQUEr MEio coNVENcioNal oU ElEtrNico,
Para FiNS DE EStUDo E PESQUiSa, DESDE QUE citaDa a FoNtE.
Faculdade de arquitetura e Urbanismo da Universidade de So Paulo
aNDErS, gustavo caminati.
abrigos temporrios de carter emergencial / gustavo caminati anders;
orientador alessandro Ventura - So Paulo, 2007.
Dissertao (Mestrado - Programa de Ps-graduao em arquitetura e Urbanismo
/ rea de concentrao: Design e arquitetura) Faculdade de arquitetura e
Urbanismo, Universidade de So Paulo.
FOlhA DE APrOVAO
Gustavo Caminati Anders
Abrigos temporrios de carter emergencial
Dissertao apresentada Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo, da Universidade de So Paulo, como
parte dos requisitos para obteno do ttulo de
Mestre.
rea de Concentrao: Design & Arquitetura.
Aprovado em
Banca Examinadora:
Prof. Dr.
instituio Assinatura
Prof. Dr.
instituio Assinatura
Prof. Dr.
instituio Assinatura
iv
AGrADECiMENtOS
Ao meu orientador, Prof. Dr. Alessandro Ventura, por sua amizade, pacin-
cia e entusiasmo, que possibilitou o desenvolvimento desse presente estudo.
Aos Professores Dr. Jorge hajime Oseki, do Departamento de tecnologia
da FAU-USP, e o Dr. Paulo Csar Xavier Pereira, do Departamento de histria da
FAU-USP, por suas crticas e sugestes de grande importncia.
Aos colegas de orientao, Alexandre Mora, Caio tolosa, Claudir Segura,
Fbio Bustamante, Franklin Costa, Jane Matie, luciano Ferreti, Paulo henrique e
Wilhelm rosa, pelos nossos seminrios que muito contriburam com a troca de
idias e experincias.
Aos professores e funcionrios da FAU-USP, por sua ateno e dedicao
que direta ou indiretamente participaram dessa jornada.
Aos meus amigos, pela pacincia e compreenso pela minha ausncia nes-
se perodo de muito trabalho rduo. Em particular, devo agradecer aos amigos e
irmos Jun Sakabe, por sua ajuda na diagramao deste trabalho, e o Dudu, pela
pacincia durante as inmeras revises feitas.
Natalia, por seu carinho, compreenso e amor.
E fnalmente aos meus pais, rodolfo e Paola, pelo suporte e encorajamen-
to, sem os quais no teria conseguido seguir adiante com meus estudos.
v
A partir da formulao do panorama scio-econmico no Brasil e, em es-
pecial de So Paulo, investigada a precariedade da habitao onde grande
parte da populao vive: as favelas, loteamentos irregulares e os cortios. Essas
formas precrias de moradias conformam situaes de risco e vulnerabilida-
de, onde a ocorrncia de um fenmeno natural, como a chuva, pode provocar
um desastre. invariavelmente, as pessoas atingidas por um "desastre natural" so
obrigadas a procurar abrigos temporrios; em muitos casos so utilizadas estru-
turas transportveis e desmontveis como abrigos emergenciais. Por meio do le-
vantamento do estado da arte dos abrigos emergenciais, sugerida uma srie de
recomendaes que visa orientar o desenvolvimento de um abrigo emergencial
adequado s caractersticas sociais, culturais e econmicas dos usurios.
rESUMO
vi
After the establishment of the social-economic scenario in Brazil and spe-
cifcally in So Paulo, the precarious habitation conditions where a great part of
the population lives is investigated: the slum quarters, irregular land divisions
and tenement houses. these precarious forms of housings create situations of
risk and vulnerability, where the occurrence of natural phenomena, such as rain,
may cause disasters. invariably, people affected by "natural disasters" have to
seek acommodations in temporary shelters; in many cases, transportable struc-
tures or structures that can be dismounted are used as emergency shelters. By
means of the survey of the state of the art of the existing emergency shelters, a
series of recommendations is suggested, aiming to guide the development of an
appropriate emergency shelter that fts the social, cultural and economic charac-
teristics of its users.
ABStrACt
vii
liStA DE FiGUrAS
43
44
47
49
51
53
Figura 3.1 tenda pr-histrica.............................................................................
Figura 3.2 Esquema de montagem tenda Tipi.......................................................
Figura 3.3 Esquema de montagem Yurt................................................................
Figura 3.4 Esquema de montagem Nissen Hut.....................................................
Figura 3.5 Dymaxion House................................................................................
Figura 3.6 Fun Palace..........................................................................................
viii
liStA DE FOtOS
Foto 1.1 Favela Catumbi, no rio de Janeiro.........................................................
Foto 1.2 Favela na cidade de So Vicente, no litoral de So Paulo.......................
Foto 1.3 Favela helipolis...................................................................................
Foto 1.4 Favela Morumbi.....................................................................................
Foto 1.5 Favela na zona Norte de So Paulo........................................................
Foto 1.6 Jardim ngela........................................................................................
Foto 1.7 represa Billings.....................................................................................
Foto 1.8 Cortio Bela Vista...................................................................................
Foto 2.1 Chuvas zona leste de So Paulo............................................................
Foto 3.1 tenda Tipi..............................................................................................
Foto 3.2 tenda Nmade.......................................................................................
Foto 3.3 Detalhe tenda Nmade..........................................................................
Foto 3.4 Exemplos de Yurt....................................................................................
23
24
26
27
27
29
30
31
40
44
45
46
47
ix
Foto 3.5 Abrigo Nissen Hut..................................................................................
Foto 3.6 Unidade hospitalar MUST.....................................................................
Foto 3.7 Wichita House.......................................................................................
Foto 3.8 Arena Olmpica de Frei Otto..................................................................
Foto 4.1 Unidade MSS.........................................................................................
Foto 4.2 Unidade MSS modular...........................................................................
Foto 4.3 Abrigo COGiN.......................................................................................
Foto 4.4 Abrigo COGiN montado........................................................................
Foto 4.5 Estrutura Tensile.....................................................................................
Foto 4.6 Abrigo infvel........................................................................................
Foto 4.7 Vtimas do terremoto em Popayan..........................................................
Foto 4.8 Abrigo improvisado i em Kobe, Japo....................................................
Foto 4.9 Abrigo improvisado ii em Kobe, Japo....................................................
Foto 4.10 Abrigo improvisado na Califrnia, EUA...............................................
Foto 4.11 Abrigo improvisado no estdio Astrodome, em houston, EUA.............
Foto 4.12 Abrigo improvisado em um Centro Cvico, em Austin, EUA.................
Foto 4.13 Acampamento de desabrigados na Armnia........................................
Foto 4.14 Acampamento de desabrigados no Sudo...........................................
Foto 4.15 Acampamento de desabrigados i na ndia............................................
Foto 4.16 Acampamento de desabrigados ii na ndia...........................................
Foto 4.17 Acampamento de desabrigados iii na ndia.........................................
Foto 4.18 Acampamento de desabrigados na indonsia.......................................
Foto 4.19 Abrigo Superadobe i.............................................................................
Foto 4.20 Abrigo Superadobe ii............................................................................
48
50
52
53
62
62
63
63
64
65
72
73
73
74
74
75
81
82
82
83
83
84
84
85
x
Foto 4.21 Abrigo Superadobe iii..........................................................................
Foto 4.22 Abrigo Shigeru Ban i............................................................................
Foto 4.23 Abrigo Shigeru Ban ii...........................................................................
Foto 4.24 Abrigo Shigeru Ban iii..........................................................................
Foto 4.25 Abrigo Shigeru Ban iV..........................................................................
Foto 5.1 Alojamento provisrio Jardim Pantanal...................................................
Foto 5.2 Ofcina Boracia, Albergue 1.................................................................
Foto 5.3 Mobilirio, Albergue 1...........................................................................
Foto 5.4 Mobilirio, Anexo do Albergue 1...........................................................
Foto 5.5 Ofcina Boracia, Albergue 2.................................................................
Foto 5.6 instalaes sanitrias..............................................................................
85
86
86
87
87
90
91
92
92
93
93
xi
liStA DE tABElAS
tabela 1.1 Evoluo da populao favelada no Municpio
de So Paulo, 1973 2000................................................................................
tabela 2.1 (Parte A) Nmero total de afetados por "desastres naturais"
por continente e por ano (1994 - 1999) em milhares.........................................
tabela 2.1 (Parte B) Nmero total de afetados por "desastres naturais"
por continente e por ano (2000 - 2004) em milhares.........................................
tabela 2.2 "Desastres naturais" no Brasil (1990 2005)...............................
28
35
35
39
xii
liStA DE GrFiCOS
Grfco 1.1 Dfcit habitacional por regio metropolitana
(1991 e 2000)....................................................................................................
Grfco 2.1 Nmero de mortes em "desastres naturais" (1994 2004).............
Grfco 2.2 Nmero de desabrigados em "desastres naturais" (1994 2004)...
Grfco 2.3 Perdas econmicas por continente em 2004
(em milhes de US$).........................................................................................
Grfco 2.4 Perdas econmicas seguradas por continente em 2004
(em milhes de US$)..........................................................................................
22
36
37
37
38
xiii
liStA DE SiGlAS E ABrEViAtUrAS
EM-DAT Emergency Disasters Database, mantido pelo Centre for Research on the
Epidemiology of Disasters CrED, da Universidade Catlica de louvain, em Bruxelas,
Blgica.
FIPE Fundao instituto de Pesquisas Econmicas.
IBGE instituto Brasileiro de Geografa e Estatstica.
IPT instituto de Pesquisas tecnolgicas do Estado de So Paulo.
PNDA - Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios.
SAS - Superviso da Assistncia Social da Subprefeitura
SEHAB Secretaria Municipal de habitao
UDHR - Universal Declaration of Human Rights. (Declarao Universal dos Direitos
humanos).
UNDRO - United Nations Disaster Relief Organization. (Escritrio das Naes Unidas
para a Coordenao de Alvio a Desastres).
AGRADECIMENTOS
RESUMO
ABSTRACT
LISTA DE FIGURAS
LISTA DE FOTOS
LISTA DE TABELAS
LISTA DE GRFICOS
LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS
SUMRIO
INTRODUO
CAPTULO 1 ASPECTOS SCIO-ECONMICOS NO BRASIL:
SEU REFLEXO NA HABITAO
1.1 Aspectos Gerais
1.2 A precariedade da Habitao em So Paulo
Sumrio
iv
v
vi
vii
viii
xi
xii
xiii
xiv
17
20
20
24
xiv
1.2.1 As Favelas
1.2.2 os Loteamentos irregulares
1.2.3 os Cortios
CAPTULO 2 VULNERABILIDADES FRENTE A FENMENOS NATURAIS
2.1 introduo
2.2 Aspectos Econmicos
2.3 Panorama no Brasil
CAPTULO 3 A EVOLUO DAS HABITAES TRANSPORTVEIS
3.1 referncias Pr-histricas e Vernaculares
3.1.1 Tipi
3.1.2 Tendas Nmades
3.1.3 Yurt
3.2 o uso militar: o Desenvolvimento de HABiTAES Transportveis
3.3 o Desenvolvimento de ABriGoS Transportveis no ps-guerra
CAPTULO 4 OS ABRIGOS EMERGENCIAIS
4.1 introduo
4.2 AS Solues DE Abrigos Emergenciais
4.2.1 module
4.2.2 Flat-Pack
4.2.3 Tensile
4.2.4 Pneumatic
4.3 recomendaes Gerais
4.4 Comunicao Social e o relacionamento entre os Desabrigados
4.5 A Adaptao de Edifcios
25
28
30
32
32
37
38
42
42
44
45
46
48
50
55
55
58
61
62
64
64
65
67
68
xv
4.5.1 As instalaes Sanitrias
4.5.2 Conforto Trmico
4.5.3 referncias
4.6 o Acampamento de Desabrigados
4.6.1 Localizao e Desenho
4.6.2 recomendaes Gerais
4.6.3 referncias
CAPTULO 5 ABRIGOS EMERGENCIAIS NA CIDADE DE SO PAULO
5.1 o Atendimento no Ps-Desastre
5.2 o Projeto ofcina Boracia
CAPTULO 6 SNTESE E CONCLUSES
BIBLI OGRAFIA
ANEXOS
Anexo 1 Controle de Animais
Anexo 2 Acondicionamento, Coleta e Disposio do Lixo
Anexo 3 instalaes Sanitrias
Anexo 4 Combate a incndio
Anexo 5 Cuidados com gua e Alimentos
70
71
72
75
77
78
81
88
88
90
95
99
106
106
108
109
112
115
xvi
17 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
introduo
Fenmenos naturais ocorrem a todo o momento e em qualquer local; so
eventos produzidos espontaneamente pela natureza, independente da ao di-
reta do homem. O termo fenmeno natural pode ser considerado como toda
manifestao da natureza. Esse termo se refere a qualquer expresso adotada
pela natureza como resultado de seu funcionamento interno, como por exem-
plo, os eventos hidrolgicos, atmosfricos ou topolgicos.
Como SKEET (1977) e CASTRO (2003) apontam, os fenmenos naturais,
abordados neste trabalho, so relacionados com a geodinmica terrestre exter-
na, como as tempestades, tornados, enchentes, secas, etc; ou relacionados com
a geodinmica terrestre interna, como terremotos, tsunamis, erupes vulcni-
cas, etc.
Em sociedades mais vulnerveis, a ocorrncia de um fenmeno natural
como a chuva tem o potencial para desencadear um desastre. No entanto,
em pases em desenvolvimento, a defnio de "desastre natural" diferente em
relao aos pases desenvolvidos.
No Brasil, assim como em outros pases em desenvolvimento, existe uma
srie de problemas e desastres cotidianos: o desastre social, econmico, pol-
tico, tecnolgico, ambiental, entre diversos outros. Como consequncia desse
cenrio de pobreza, podemos apontar algumas situaes de desastre, como por
exemplo, os moradores de rua; a criminalidade; a corrupo; a elevada taxa de
18 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
INTRODUO
analfabetismo; o sistema pblico de sade precrio; as favelas e os loteamentos
irregulares e clandestinos, onde milhes de pessoas moram sem acesso gua
potvel e esgotamento sanitrio; entre muitas outras situaes.
Entre todos esses problemas, o presente estudo aborda a questo dos cha-
mados "desastres naturais". Essa abordagem percorre as possveis causas, as con-
seqncias dos desastres e o objeto de estudo deste trabalho as formas de
atendimento populao desabrigada: os abrigos temporrios de carter emer-
gencial.
Nos ltimos anos, uma srie de projetos e solues de abrigos emergenciais
foi proposta. O potencial de estruturas desmontveis e portteis para o uso em
situaes de ps-desastre como abrigos emergenciais percebido como um
grande caminho a ser seguido por aqueles envolvidos no mundo da arquitetura
e do design. O tema "abrigo emergencial" usualmente atribudo aos estudantes
de arquitetura, ou at mesmo como tema de concursos internacionais de arqui-
tetura, realizados por organizaes internacionais, como por exemplo, a orga-
nizao sem fns lucrativos Architecture for Humanity, fundada em 1999 com
a fnalidade de promover solues arquitetnicas para problemas humanitrios.
Estruturas portteis podem desempenhar funes que estruturas fxas e es-
tticas no podem: so empregadas rapidamente quando necessrio, em locais
de difcil acesso; podem ainda ser reutilizadas em outras oportunidades. Essa
vocao das estruturas transportveis deve-se a diversos fatores histricos, eco-
nmicos e logsticos.
Entretanto, para buscar uma soluo adequada, no se deve levar em con-
siderao somente os aspectos econmicos (do ponto de vista da produo do
abrigo) e logsticos (sua forma de armazenamento e transporte), mas tambm,
os aspectos sociais, econmicos e culturais da comunidade qual se pretende
fornecer o abrigo. Na maioria das referncias levantadas isso no ocorre.
Feitas essas constataes, podemos assinalar o objetivo principal deste tra-
balho, que o de apontar diversas recomendaes para o desenvolvimento de
uma soluo para um abrigo emergencial adequado realidade social, cultural
e econmica de uma determinada comunidade atingida por um eventual "desas-
tre natural", onde se faa necessria a proviso de abrigos emergenciais.
Para tanto, o trabalho foi organizado em quatro partes.
A primeira parte, formada pelos captulos 1 e 2, procura determinar um
breve panorama scio-econmico do Brasil e, em especial de So Paulo. Depois
de traado esse panorama, sero investigadas as condies precrias das habita-
es onde grande parte da populao obrigada a viver. A partir da constatao
19 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
INTRODUO
das formas precrias de habitao, so apontadas situaes de risco e vulnera-
bilidade que na ocorrncia de fenmenos naturais, como chuvas e vendavais,
podem causar os chamados "desastres naturais".
A segunda parte, formada pelo captulo 3, mostra a evoluo histrica das
habitaes transportveis e dessa forma justifca a vocao da utilizao de es-
truturas transportveis e desmontveis como abrigos emergenciais. So abor-
dadas as solues e formas de abrigos transportveis da pr-histria e algumas
solues vernaculares. Em seguida estudado o desenvolvimento desses abrigos
no perodo das grandes guerras, e a contribuio de alguns arquitetos para o
desenvolvimento de ambientes transportveis.
Os captulos 4 e 5 formam a terceira parte do trabalho. Essa parte dedica-se
ao levantamento do estado da arte dos abrigos emergenciais, onde relacionada
uma srie de solues internacionais. Como referncia nacional, foi analisado
um abrigo utilizado pela Prefeitura de So Paulo. A partir desse levantamento, as
solues encontradas so divididas em dois grupos, a saber: o de edifcios adap-
tados e o dos acampamentos de desabrigados. Para esses dois grupos foi reunida
uma srie de recomendaes com o intuito de orientar o desenvolvimento de
um abrigo emergencial.
No captulo 6, ltima parte deste trabalho, so feitas as concluses fnais
que buscam contribuir para o desenvolvimento de abrigos emergenciais mais
adequados s caractersticas culturais e econmicas dos usurios. So apontadas
ainda novas possibilidades para a utilizao de abrigos transportveis.
20 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPtuLo 1
ASPECTOS SCIO-ECONMICOS NO BRASIL:
SEU REFLEXO NA HABITAO
1.1 ASPECTOS GERAIS
O Brasil hoje um pas altamente urbanizado, no entanto esse fato con-
trasta com a realidade de grande parte de sua populao: a pobreza. Em 1940,
31% de sua populao residia em reas urbanas. De acordo com a Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domiclios de 2003 (IBGE, 2003), esse nmero subiu para
84% - 146 milhes. Essa condio, a de pas urbanizado, mostra que muitos dos
problemas sociais e econmicos, como pobreza, criminalidade e desemprego,
so agora urbanos (UN-HABITAT, 2003).
Barros (2000) aponta a possibilidade de traar um panorama da pobreza e
da indigncia no Brasil a partir da anlise das Pesquisas Nacionais por Amostra
de Domiclios (PNADs), realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografa e Esta-
tstica (IBGE). Os dados levantados das PNADs mostram que, em 2003, cerca
de 15% da populao brasileira era composta por famlias com renda mensal
inferior a 1 salrio mnimo e 36% com renda de 1 a 3 salrios mnimos. Essas
informaes mostram que cerca de 26 milhes de brasileiros vivem abaixo da
linha de indigncia e 62 milhes so pobres.
A anlise de alguns dados permite ilustrar a precariedade das condies de
vida de grande parte da populao brasileira, entre eles podemos destacar que:
21 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 1 ASPECTOS SCIO-ECONMICOS NO BRASIL: SEU REFLEXO NA HABITAO
Na regio Norte, 12% das famlias residentes em domiclios particulares
tm renda de at 1 salrio mnimo; no Nordeste esse nmero sobe para
26%; na regio Sudeste, 8%; no Sul, 7%; e na regio Centro-Oeste, 11%;
No Brasil, 22 milhes de pessoas no so alfabetizadas; desse total,
68% encontram-se em reas urbanas;
Aproximadamente 1,3 milho de domiclios em reas urbanas no
tm acesso gua potvel e esse nmero sobe para 2,5 milhes na zona
rural;
Mais de 1,4 milho de domiclios em reas urbanas no so atendidos
por coleta de lixo, e 5,5 milhes no so atendidos na zona rural;
Cerca de 6 milhes de domiclios no dispem de esgotamento sanit-
rio e, ou, no tm banheiro ou sanitrio;
Cerca de 1,5 milho de domiclios no tm iluminao eltrica; e,
Mais de 1,6 milho de domiclios tm as paredes externas ou as co-
berturas feitas de materiais no-durveis (so considerados materiais no-
durveis para paredes: taipa no-revestida, madeira aproveitada, palha etc.
Para as coberturas: zinco, madeira aproveitada, palha etc).
Segundo Cardoso (2004), o dfcit habitacional no Brasil, em 2000, foi esti-
mado em cerca de 6,5 milhes de unidades, equivalendo, na poca, a 14,8% do
parque domiciliar existente. Um estudo da GVconsult, encomendado pelo Sin-
dusCon-SP (Sindicato da Indstria da Construo Civil do Estado de So Paulo),
apontou que o dfcit habitacional no Brasil, em 2003, foi estimado em cerca de
7,3 milhes de unidades. No consenso a estimativa para o dfcit habitacio-
nal, pois os critrios que defnem o que seria uma "moradia adequada" variam.
Basicamente so adotados trs critrios:
A rusticidade das estruturas fsicas das habitaes (uso de materiais no-
durveis e, ou, improvisados);
A moradia no ser originariamente construda para habitao, adquirin-
do essa funo apenas de forma espordica ou improvisada; e,
A coabitao (a existncia de mais de uma famlia por residncia).
a.
b.
c.
22 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 1 ASPECTOS SCIO-ECONMICOS NO BRASIL: SEU REFLEXO NA HABITAO
O mesmo estudo aponta que o dfcit do Estado de So Paulo subiu de
1 milho para 1,4 milho de moradias de 1993 para 2003, um acrscimo de
40%. Com isso, o Estado sozinho passou a responder por 20% do dfcit total
do pas.
Grfco 1.1 dfcit habitacional por regio metropolitana 1991 e 2000.
Legenda
1991 2000
Fonte: CARDOSO, 2004.
Desse total, em torno de 30% do dfcit est concentrado nas 10 principais
regies metropolitanas, correspondendo a 1.950.000 unidades. Cerca de 83%
do dfcit habitacional concentra-se na populao com renda familiar de at 3
salrios mnimos. No perodo de 10 anos, como mostra o grfco 1.1, o dfcit
cresceu em todas as regies metropolitanas, mantendo uma mdia anual de cres-
cimento em torno de 3%; as cidades de Curitiba, Belm e Braslia tiveram taxas
superiores a 5%.
O Brasil tem 10 regies metropolitanas, entre elas destacam-se So Paulo,
com 19 milhes de habitantes, como a maior da Amrica do Sul e em seguida
o Rio de Janeiro, com 12 milhes de habitantes. Porm, o rpido crescimento
Belm
Fortaleza
recife
Salvador
Belo Horizonte
rio de Janeiro
So Paulo
Curitiba
Porto Alegre
distrito Federal
0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000
23 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 1 ASPECTOS SCIO-ECONMICOS NO BRASIL: SEU REFLEXO NA HABITAO
dessas metrpoles, as mudanas em suas funes, em suas estruturas internas e
na composio populacional, provocaram mudanas e transformaes que as
fragmentaram.
As camadas pobres so foradas a deslocarem-se para periferia, longe dos
centros urbanos, onde h oferta abundante de infra-estrutura urbana, em detri-
mento ao que acontece nas periferias. Essa expanso e o consumo do espao
nas cidades, ocorridos nas ltimas dcadas, caracterizam-se por um padro de
expanso predominantemente horizontal, quase sempre desordenado e descon-
tnuo, na direo de periferias cada vez mais distantes e separadas umas das ou-
tras. Nesse processo de expanso, formou-se, ao longo dos anos, uma sucesso
de ncleos urbanos mais adensados, cuja base de ocupao tem sido em geral
informal e irregular. As casas so construdas precria e inadequadamente, o
que favorece a segregao espacial e a excluso social de parcela importante da
populao urbana.
Alguns exemplos da precariedade da habitao no Brasil podem ser en-
contrados nas grandes regies metropolitanas, como no Rio de Janeiro, onde
surgiram as primeiras favelas; ou em So Paulo e Salvador, entre outras.
Fonte: (Disponvel em: <http://pro.corbis.com/default.aspx>). Acesso em: 20 set.
2006.
Foto 1.1
Favela Catumbi, no
Rio de Janeiro.
24 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 1 ASPECTOS SCIO-ECONMICOS NO BRASIL: SEU REFLEXO NA HABITAO
Fonte: (Disponvel em: <http://pro.corbis.com/default.aspx>). Acesso em: 20 set.
2006.
1.2 A PRECARIEDADE DA HABITAO EM SO PAULO
O Estado de So Paulo ocupa uma rea da unidade territorial de 248.209
km, compreendendo 645 Municpios. Em 2005, sua populao foi estimada
em 40 milhes. A Grande So Paulo, formada por 39 municpios e com uma
populao de aproximadamente 19 milhes, tem uma rea urbanizada de 2.139
km. Somente o Municpio de So Paulo, que ocupa 0,6% da rea da unidade
territorial do Estado (1.523 km), constitudo por 27,5% da populao total do
Estado de So Paulo, ou seja, em torno de 11 milhes de habitantes.
O rpido crescimento urbano da cidade de So Paulo, causado por diver-
sos fatores econmicos e polticos, foi extremamente elitista, provocando gran-
des disparidades sociais e econmicas, sendo assim, umas das causas do cresci-
mento perifrico e consequentemente da precariedade das habitaes.
Pasternak (2000) aponta que esse crescimento, principalmente da popula-
o favelada, se deu basicamente em reas de preservao ambiental, tanto em
reas de mananciais como na regio montanhosa ao norte de So Paulo.
O fornecimento de infra-estrutura, como gua, esgoto, iluminao, pavimen-
tao, policiamento, etc, no foi capaz de acompanhar o crescimento da cidade. Na
medida que a cidade cresce, os terrenos mais distantes so escolhidos para assentar
a populao das classes mais pobres.
Foto 1.2
Favela na cidade de
So Vicente, no litoral
de So Paulo.
25 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 1 ASPECTOS SCIO-ECONMICOS NO BRASIL: SEU REFLEXO NA HABITAO
A legislao sobre o uso do solo foi outro fator importante no processo de
crescimento da cidade. So Paulo contou com uma legislao que previa uma
baixa densidade, impondo dessa maneira um crescimento horizontal. Somente a
partir da dcada de 80 a expanso vertical da cidade foi maior que a horizontal,
quando o nmero de casas aumentou 4,2% e o de apartamentos 9,3%.
Em todo esse processo, descrito por Milton Santos (1990), a grande pre-
judicada foi a classe pobre. fcil notar que as moradias precrias podem ser
encontradas em reas perifricas, como as favelas e os loteamentos clandestinos,
e tambm nas reas centrais, onde h os cortios. Essas formas precrias de ha-
bitao so conseqncias diretas de fatores econmicos, como a poltica de
especulao imobiliria, a industrializao e as aes polticas e sociais. A soma
desses fatores forou a camada mais pobre da populao a ocupar reas perif-
ricas, lugares inadequados e de risco, como encostas ou mananciais, prdios e
casares abandonados nas regies centrais, provocando degradao ambiental e
um crescimento urbano baseado na desigualdade e na pobreza.
Dentre as formas precrias de habitao, podemos destacar trs tipos: as
favelas, os loteamentos irregulares ou clandestinos e os cortios.
1.2.1 AS FAVELAS
O termo favela tem sua origem durante a Guerra de Canudos, no fnal do
sc. XIX. A cidadela de Canudos foi construda junto a alguns morros, entre
eles o Morro da Favela. O nome favela deveu-se ao fato de uma planta, cha-
mada favela, que cobria o morro. Diversos soldados que foram lutar na regio,
ao voltar ao Rio de Janeiro, devido s difculdades econmicas, foram mo-
rar (juntamente com outros desabrigados, como ex-escravos) em construes
provisrias instaladas em alguns morros da cidade (BURGOS, 2005). Com o
passar do tempo, esses morros passaram a ser conhecidos como favelas, em
referncia "favela" original.
Um estudo realizado por Taschner (2002), indica que as primeiras favelas
em So Paulo apareceram na dcada de 1940, nos arredores da Mooca (favela
do Oratrio), Lapa (na rua Guaicurus), Ibirapuera, Barra Funda (favela Ordem e
Progresso) e Vila Prudente (na zona leste, existente at hoje). No fnal dos anos
50, foram identifcados 141 ncleos favelados, com 8.488 barracos e cerca de
50 mil favelados.
As favelas esto diretamente vinculadas ao fenmeno de urbanizao, e sua
26 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 1 ASPECTOS SCIO-ECONMICOS NO BRASIL: SEU REFLEXO NA HABITAO
intensifcao nas ltimas dcadas transformou-as em um dos maiores problemas
atuais. Somando-se aos diversos fatores econmicos e polticos, pode-se apon-
tar, como uma das causas da precarizao da habitao nas grandes cidades, a
crescente migrao de contingentes populacionais do meio rural (principalmen-
te da regio Nordeste) para o meio urbano, em busca de empregos e melhores
condies de vida. No entanto, como descrito anteriormente, as cidades atuais
no so capazes de absorver esse contingente e dispor de recursos sufcientes
para fornecer habitao adequada. Para enfrentar essa realidade imposta, a po-
pulao margem da sociedade, por meio da autoconstruo, aplica suas pr-
prias solues para construir sua habitao, com a utilizao de materiais no
convencionais e a apropriao de terrenos desprezados pela sociedade e pelo
poder pblico.
O termo "favela" traz lembrana imagens de frgeis barracos de madeira
com seu embasamento em terra socada; no entanto, a partir dos anos 80, obser-
vou-se uma crescente substituio dos barracos por unidades de alvenaria apa-
rente (sem revestimento) e com uma laje cobrindo (TASCHNER, 2002). Atual-
mente, devido impossibilidade de uma maior expanso horizontal da cidade e,
consequentemente, uma valorizao imobiliria, as favelas tm se verticalizado
(SAMPAIO, 2003). As consequncias desse crescente adensamento so traduzi-
das na piora das condies de vida, onde mais pessoas so obrigadas a conviver
em espaos reduzidos, com iluminao e ventilao insufcientes.
Fonte: (Disponvel em: < http://www.tvcultura.com.br/caminhos/07heliopolis/
terra-heliopolis.htm>). Acesso em: 24 set. 2006
Foto 1.3
Em 1970, a prefeitura
de So Paulo transfe-
riu, provisoriamente,
60 famlias, da Vila
Prudente para a re-
gio entre os crregos
Independncia e
Sacom, um impro-
viso que resultou em
uma favela com mais
de 80 mil morado-
res. Hoje, ocupando
cerca de 1 milho
de m, entre o bairro
do Ipiranga e So
Caetano do Sul, est
a maior favela de So
Paulo, a Helipolis.
27 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 1 ASPECTOS SCIO-ECONMICOS NO BRASIL: SEU REFLEXO NA HABITAO
Fonte: (Disponvel em: <http://www.arrakeen.ch/saopaulo/saopaulomay2001.
html>). Acesso em: 24 set. 2006.
Fonte: (Disponvel em: <http://pro.corbis.com/default.aspx>). Acesso em: 20 set.
2006.
Dados da Pesquisa de Informaes Bsicas Municipais de 2001 (IBGE,
2002), apontaram, para o Estado de So Paulo, a existncia de 4.026 favelas,
contabilizando um total de 805.228 domiclios.
Foto 1.4
Favela no bairro do
Morumbi, em So
Paulo.
Foto 1.5
Favela na zona
norte de So Paulo ao
longo de um crrego
afuente do rio Tite.
28 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 1 ASPECTOS SCIO-ECONMICOS NO BRASIL: SEU REFLEXO NA HABITAO
tabela 1.1 Evoluo da populao favelada no Municpio de So Paulo, 1973
2000.
1973 1980 1987 1991 2000
Populao Favelada 71.840 (3) 375.023 (2) 812.764 (4) 891.673 (5) 1.160.597 (5)
Populao Municipal 6.560.547 (1) 8.558.841 (2) 9.210.668 (1) 9.644.122 (2) 10.338.196 (2)
% da populao
municipal
1,1% 4,4% 8,8% 9,2% 11,2%
Fonte:
(1) Fundao SEADE: 1973, 1987.
(2) IBGE: Censo Demogrfco 1980, 1991, 2000.
(3) PMSP / COBES. Equipe de Estudos e Pesquisas. Favelas no Municpio de So Paulo. 1973,1980.
(4) PMSP. SEHAB. HABI. Div. Tc. de Planejamento. Coord. Inf. Tc. e Pesquisas. Censo das Favelas do
Municpio de So Paulo. 1987.
(5) Estimativa CEM.
A anlise dos dados da Tabela 1.1 mostra que o percentual da populao
paulistana favelada cresceu vertiginosamente a partir da dcada de 70. Entre
1973 e 2000, a populao favelada cresceu taxa de 10,84% anuais; j a popu-
lao municipal, para o mesmo perodo, cresceu taxa de 1,7% ao ano.
Taschner (2002) aponta que as favelas encontram-se de forma heterognea
no espao metropolitano, concentrando-se na capital (61%), no ABCDM [San-
to Andr, So Bernardo, So Caetano, Diadema e Mau, (22,4%)], em Osasco
(6,1%) e em Guarulhos (4,9%). Somente na cidade de So Paulo, de acordo com
os dados apontados por Sampaio (2003), no ano 2000 existiam 2.018 favelas
com um total de 286.954 domiclios onde viviam 1.160.590 habitantes.
1.2.2 OS LOTEAMENTOS IRREGULARES
Outra forma de habitao popular, bastante comum na periferia de So
Paulo, so os loteamentos irregulares e clandestinos. Os loteamentos so consi-
derados irregulares quando todas as obras de infra-estrutura exigidas pelo poder
pblico no foram concludas; o loteamento clandestino resultado do parcela-
mento indevido de terras (BURGOS, 2005). Grande parte desses loteamentos
feita em terrenos muito acidentados com encostas ngremes e instveis, ou perto
de rios ou crregos sujeitos a inundaes. H o risco constante de deslizamentos
de terra, devido retirada da vegetao natural, e da contaminao da gua por
29 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 1 ASPECTOS SCIO-ECONMICOS NO BRASIL: SEU REFLEXO NA HABITAO
meio da destinao de resduos de forma inadequada. As habitaes encontra-
das nesses loteamentos so bem semelhantes s de uma favela: so casas prec-
rias, autoconstrudas, nas quais foram utilizados materiais e tcnicas construtivas
inadequados. Invariavelmente as favelas acabam surgindo nesses loteamentos e
sempre nas reas de maior risco.
Um loteamento clandestino, que pode ser citado como exemplo dessas con-
dies levantadas, o Colinas do Oeste I, prximo ao bairro do Portal DOeste
II, no municpio de Osasco. Segundo Ribeiro (2005), as primeiras ocupaes na
rea denominada Colinas do Oeste I ocorreram em 1997. A Associao Por Mo-
radia de Osasco (COPROMO) iniciou um loteamento habitacional nessa rea,
no entanto, havia problemas fundirios que tornaram o loteamento ilegal e as
obras foram embargadas. Durante o perodo de paralisao ocorreram inmeras
ocupaes na rea, desde moradores que compraram lotes, at famlias que to-
maram posse. Inicialmente, instalaram-se cerca de setenta barracos, atualmente,
existem aproximadamente cinco mil pessoas vivendo nesse loteamento.
Fonte: (Disponvel em: <http://www.unifesp.br/>). Acesso em: 21 set. 2006.
Foto 1.6
O Jardim ngela,
outro exemplo de
loteamento irregu-
lar, localiza-se s
margens da represa
de Guarapiranga.
formado por 37 pe-
quenos bairros com
240 mil habitantes.
30 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 1 ASPECTOS SCIO-ECONMICOS NO BRASIL: SEU REFLEXO NA HABITAO
Fonte: (Disponvel em: <http://www.socioambiental.org/esp/rodoanel/pgn/>).
Acesso em: 23 set. 2006.
A ocupao de forma ilegal de um loteamento torna-o ilegal e clandestino
em relao Poder Pblico. As ligaes de gua e luz so igualmente clandesti-
nas. Mesmo com problemas estruturais e ocupao em reas de risco (sujeitas a
deslizamentos e inundaes) a populao permanece nesses loteamentos com a
esperana da regularizao da rea e a instalao de infra-estrutura urbana.
Sampaio (2003) aponta que 20% da rea do municpio de So Paulo so
ocupadas por trs mil loteamentos irregulares onde vivem aproximadamente 3
milhes de pessoas.
1.2.3 OS CORTIOS
Dentre as formas precrias de habitao, o cortio a mais antiga, sen-
do uma alternativa muito utilizada pela classe operria no incio do sc. XX,
em So Paulo. Grande parte dos cortios se originou da subdiviso de casares
antigos, resultado da deteriorao da rea central de So Paulo, bem como de
outras grandes cidades, segundo Sampaio (2003). As classes de renda alta, assim
como os grandes bancos, empresas, hotis, etc, rumaram para os novos centros;
a primeira mudana foi para a Avenida Paulista, em seguida para a Avenida Faria
Lima, e agora para a Marginal do rio Pinheiros.
Foto 1.7
A intensa ocupao
no entorno da represa
Billings por lotea-
mentos clandestinos
e irregulares com-
promete o seu uso
para abastecimento
pblico, a despeito
da legislao de
proteo que vigora
desde a dcada de
70.
31 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 1 ASPECTOS SCIO-ECONMICOS NO BRASIL: SEU REFLEXO NA HABITAO
Fonte: Acervo do autor.
A Lei Moura, de 1991, defne como cortio a unidade usada como habita-
o coletiva que pode apresentar alguma das seguintes caractersticas:
Constituda por uma ou mais edifcaes construdas em lote urbano;
Subdividida em vrios cmodos alugados, subalugados ou cedidos a
qualquer ttulo;
Com superlotao de pessoas no mesmo ambiente;
Uso comum dos espaos no edifcados, sanitrios, etc; e,
Circulao e infra-estrutura em geral precrias.
Os cortios so responsveis por uma parcela signifcativa das moradias
no municpio de So Paulo. Segundo pesquisa realizada pela FIPE, em 1991,
somente no municpio de So Paulo estimou-se a existncia de 23.688 imveis
encortiados, compreendendo 160.841 famlias e uma populao de 595.110
pessoas, que correspondiam a aproximadamente 6% da populao paulistana.
a.
b.
c.
d.
e.
Foto 1.8
Casaro transformado
em cortio, no bairro
da Bela Vista, em So
Paulo. O grande casa-
ro foi subdividido
em vrios cmodos
por meio de adapta-
es precrias para
abrigar dezenas de
famlias. Nesse caso,
um nico banheiro
atende at 5 famlias.
32 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPtuLo 2
VULNERABILIDADES FRENTE A FENMENOS NATURAIS
2.1 INTRODUO
Contrapondo o paradigma naturalista imposto historicamente, que defne
os desastres naturais como manifestaes inevitveis da natureza, h, atualmen-
te, uma nova interpretao com um enfoque multidisciplinar para esse tema.
Os chamados "desastres naturais" podem ser interpretados como os produ-
tos da materializao dos riscos existentes que no foram devidamente previstos
ou mitigados, sendo causados a partir de vulnerabilidades da sociedade atingida.
Nesse ponto de vista, os fenmenos naturais, como tempestades, inundaes,
furaces, etc., atuam como agentes desencadeadores (PROGRAMA IBEROAME-
RICNO DE CIENCIA Y TECNOLOGA PARA EL DESAROLLO, 2003).
Nem todo fenmeno natural perigoso ao homem, uma chuva forte, o
deslizamento de uma encosta ou a cheia de um rio, s tornam-se uma amea-
a quando afetam o funcionamento de uma comunidade, causando perdas de
vidas, prejuzos e danos materiais. E se esses fenmenos naturais tornaram-se
um desastre, porque havia uma situao vulnervel induzida ou produzi-
da por algum tipo de interveno humana sobre a natureza (FERNNDEZ,
1996).
Inundaes, deslizamentos, secas, eroso costeira, incndios rurais so os
exemplos mais comuns de ameaas naturais. Dentro do contexto urbano, as
33 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 2 - VULNERABILIDADES FRENTE A FENMENOS NATURAIS
inundaes, deslizamentos e secas, compreendem os problemas mais agudos e
crescentes da Amrica Latina.
O Brasil, assim como um grande nmero de pases em desenvolvimento e
outros subdesenvolvidos, sofre continuamente com fenmenos de origem natu-
ral que afetam severamente as cidades e seus assentamentos. Os efeitos, muitos
deles trgicos, no so simplesmente resultados desses fenmenos, mas sim da
precariedade dos assentamentos, consequncia direta de um crescimento urba-
no desordenado e de desigualdades scio-econmicas.
Cada vez mais so reportados casos onde eventos fsicos, que aparente-
mente parecem naturais, afetam as cidades; porm uma anlise mais aprofun-
dada mostra que esses eventos tm sua origem a partir da interveno humana.
Lavell (2000) aponta que o risco, ou seja, a probabilidade de perdas ou danos,
um conceito que pressupe a existncia de dois fatores: ameaas e vulnerabili-
dades. A idia de ameaa se refere probabilidade da ocorrncia de um evento
fsico prejudicial sociedade; vulnerabilidade refere-se a uma sociedade ou ele-
mento desta sociedade que est propenso a sofrer um dano.
importante destacar que vulnerabilidade pode ser entendida como a in-
capacidade de uma comunidade em "absorver" ou se auto-ajustar aos efeitos das
mudanas no meio ambiente. E, quanto maior for essa incapacidade, maior ser
a vulnerabilidade e conseqentemente, maior ser o risco sobre a comunidade.
Para melhor compreendemos a vulnerabilidade de uma populao deve-
mos observar alguns aspectos (MASKREY, 1993):
Aspectos fsicos, como a localizao de assentamentos humanos (fave-
las ou loteamentos irregulares) em terrenos de menor valor e em reas de
risco, como regies inundveis, encostas instveis, em cima de falhas geo-
lgicas, entre outros; e a construo de casas muito precrias, sem resistn-
cia adequada, com a utilizao de materiais e tcnicas inapropriadas.
Aspectos scio-econmicos e polticos, como o desemprego ou sub-
emprego, renda insufciente e instabilidade fnanceira, impossibilidade de
pleno acesso educao, servios de sade, recreao, segregao social,
concentrao de renda, escassez de bens, etc.
Segundo Lavell (2000) e Rodriguez (2001), o risco decorrente de ameaas
naturais (como enchentes, deslizamentos) que comunidades pobres enfrentam,
se constri sobre o risco cotidiano, dominado por uma luta diria pela sobrevi-
vncia, caracterizada por uma emergncia social e de desastre permanente.
34 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 2 - VULNERABILIDADES FRENTE A FENMENOS NATURAIS
Em cidades como So Paulo, tanto em sua periferia quanto no centro,
existem vulnerabilidades, que podem ser classifcadas, de acordo com Maskrey
(1993), como permanentes (nas periferias) e progressivas (nas regies centrais).
Na periferia as habitaes so construdas de forma precria e inadequada,
em terrenos imprprios (geralmente terrenos ngremes ou reas de mananciais),
onde a demanda por infra-estrutura bsica enorme e a vulnerabilidade cons-
tante; basta uma chuva forte para provocar danos a esses indivduos. J no centro
da cidade, onde todo meio construdo, rios so canalizados, loteamentos so
feitos em reas de vrzea e mananciais, favelas crescem ao lado de crregos, as
reas verdes no so preservadas, fazendo com que a cidade fque impermevel;
toda a infra-estrutura bsica como drenagem de gua, saneamento, etc., sempre
se mostra insufciente, pois a cidade "ilegal" cresce desmedidamente. Somando-
se isso, as construes, como edifcios, pontes, etc. e a falta de manuteno
dos mesmos, que com o tempo vo se desgastando e debilitando-se, confguram
uma vulnerabilidade progressiva, onde tambm pode haver danos e prejuzos
frente a eventos naturais.
Em pases em desenvolvimento, nos ltimos anos, o aumento de perdas
humanas e materiais, decorrente de "desastres naturais", bem como o aumento
da frequncia e da intensidade dessas ocorrncias, devem-se crescente vulne-
rabilidade fsica e socioeconmica dessas sociedades. Estima-se que 97% das
vtimas decorrentes de "desastres naturais" so de pases em desenvolvimento.
(UNITED NATIONS DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS,
2002). O aumento da vulnerabilidade de uma sociedade pode ser verifcado por
meio da anlise de diversos indicadores e de alguns bancos de dados, como os
fornecidos pelo World Disasters Report e pelo Emergency Disasters Database
1
.
De acordo com o World Disasters Report (IFRC, 2003), entre 1993 e 2002,
nos pases com alto ndice de desenvolvimento humano
2
, mais de 35,8 milhes
de pessoas foram afetadas por desastres naturais; ao passo que em pases com
mdio e baixo ndice de desenvolvimento humano, mais de 2,4 bilhes de pes-
soas foram afetadas, ou seja, um nmero de pessoas atingidas 65 vezes maior.
O EM-DAT, Emergency Disasters Database, mantido pelo Centre for Research on the Epidemiology
of Disasters CRED, da Universidade Catlica de Louvain, em Bruxelas, Blgica.
2 A classifcao de pases como tendo alto, mdio ou baixo nvel de desenvolvimento humano ba-
seado na UN Development Programmes Human Development Index (HDI).
35 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 2 - VULNERABILIDADES FRENTE A FENMENOS NATURAIS
tabela 2.1 (Parte A) nmero total de afetados por "desastres naturais", por continen-
te e por ano (1994 - 1999) em milhares
1994 1995 1996 1997 1998 1999
frica 23.104 9.268 4.687 7.977 10.240 14.693
Amricas 2.704 1.353 1.868 2.720 17.203 7.838
sia 166.225 223.781 212.016 57.151 316.690 192.613
Europa 964 10.328 456 1.274 4.107 6.337
oceania 5.914 2.682 640 730 328 151
total 198.912 247.411 219.668 69.852 348.570 221.633
Fonte: EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database. <http: //www.em-dat.net>, UCL - Bru-
xelas, Blgica.
tabela 2.1 (Parte B) nmero total de afetados por "desastres naturais", por continen-
te e por ano (2000 - 2004) em milhares
2000 2001 2002 2003 2004 total
Africa 26.905 18.440 35.022 21.490 9.025 180.851
Americas 983 11.316 2.009 3.219 4.266 55.481
Asia 221.516 129.742 696.003 228.792 131.779 2.576.309
Europa 7.417 1.967 1.476 1.622 521 36.470
oceania 11 33 43 39 124 10.696
total 256.832 161.498 734.553 255.162 145.715 2.859.807
Fonte: EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database. <http: //www.em-dat.net>, UCL - Bru-
xelas, Blgica.
Dados do OFDA/CRED - International Disaster Database mostram que nos
ltimos 10 anos, mais de 850.000 pessoas morreram e cerca de 70 milhes fca-
ram desabrigadas nos desastres naturais ocorridos pelo mundo.
Os dados apresentados na tabela 2.1 (Parte A e B) e nos grfcos 2.1 e 2.2
a seguir mostram a frica e a sia como os continentes mais castigados por
"desastres naturais". sia e frica suportam um fardo desproporcional de perdas
em desastres. Nos ltimos 30 anos, aproximadamente 88% do total de pessoas
36 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 2 - VULNERABILIDADES FRENTE A FENMENOS NATURAIS
reportadas como mortas e 96% das pessoas reportadas como afetadas habitam
essas duas regies. Do nmero total de mortos em "desastres naturais" ao redor
do mundo, mais de 75% esto na sia. Essas estatsticas sobem para mais de
98% nos casos das secas, 72% para terremotos, 71% para avalanches e 56%
para tempestades ou vendavais. Do total de mortes por erupes vulcnicas, a
frica lidera com cerca de 62% dos eventos.
importante ressaltar que a populao da sia representa aproximada-
mente 3/5 da populao mundial; sendo que esse continente ocupa cerca de
1/3 da superfcie terrestre. As regies Sul e Sudeste da sia, ndia, Bangladesh
e China tm grande parte de suas populaes atingidas por "desastres naturais".
Todos esses pases citados tm reas de grande densidade populacional perto de
rios e afuentes, onde o sustento de grande parte da populao a agricultura.
Quando ocorrem cheias, o nmero de comunidades atingidas rapidamente al-
cana centenas de milhares, e em alguns casos, milhes.
Grfco 2.1 nmero de mortes em "desastres naturais" (1994 2004)
Fonte: EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database. <http: //www.em-dat.net>, UCL - Bru-
xelas, Blgica.
37 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 2 - VULNERABILIDADES FRENTE A FENMENOS NATURAIS
Grfco 2.2 nmero de desabrigados em "desastres naturais" (1994 2004)
Fonte: EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database. <http: //www.em-dat.net>, UCL - Bru-
xelas, Blgica.
2.2 ASPECTOS ECONMICOS
Pelling (2002) aponta que a mdia anual, por continentes, do montante de
prejuzos causados por "desastres naturais", estimativa feita entre 1993 e 2002
em milhes de dlares (valores de 2002), foi de 261 na frica; 16.392 nas Am-
ricas; 38.009 na sia; 10.652 na Europa e 1.077 na Oceania. Nesse mesmo
perodo, os pases com baixo nvel de desenvolvimento humano atingiram uma
mdia de mais de 290 mortes por desastre, porm tiveram prejuzos menores
que US$ 31 milhes por desastre. No caso dos pases com alto nvel de desen-
volvimento humano, a mdia de mortes por desastre de 22, porm os prejuzos
passam dos US$ 340 milhes por desastre (IFRC/RC, 2003).
Grfco 2.3 Perdas econmicas por continente em 2004 (em milhes de uS$)
frica: US$ 444
Amrica: US$ 68.183
sia: US$ 72.706
Oceania: US$ 343
Europa: US$ 3.765
Mundiais: US$ 145.444
Fonte: TOPICS GEO ANNUAL REVIEW: NATURAL CATASTROPHES 2004, 2005.
38 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 2 - VULNERABILIDADES FRENTE A FENMENOS NATURAIS
Grfco 2.4 Perdas econmicas seguradas por continente em 2004 (em milhes de
uS$)
Fonte: TOPICS GEO ANNUAL REVIEW: NATURAL CATASTROPHES 2004, 2005.
Legenda
Como observado nos grfcos 2.3 e 2.4 acima, mais de 70% das perdas
econmicas em 2004 foram provocadas por eventos hidro-meteorolgicos,
como enchentes e tempestades.
Somente em 2004, mais de 145 milhes de pessoas foram afetadas por
"desastres naturais" ocorridos no mundo. O EM-DAT defne o nmero de pes-
soas afetadas por um desastre como pessoas necessitando assistncia imediata
durante um perodo de emergncia, ou seja, comida, gua potvel, abrigo, ins-
talaes e medidas sanitrias e assistncia mdica imediata. No entanto essa
defnio subestima o nmero real de pessoas afetadas ao longo prazo aps a
ocorrncia de um desastre.
2.3 PANORAMA NO BRASIL
No Brasil, mais de 1,2 milho de pessoas fcaram desabrigadas no pero-
do de 1948-2005, como mostra a tabela 2.2, sendo que desse total, 99,5% das
pessoas fcaram desabrigadas em razo de eventos hidro-meteorolgicos, como
Terremotos, tsunamis e erupes vulcnicas
Vendavais
Enchentes
Outros eventos (ex. incndios, secas, ondas de calor, etc.)
Amrica: US$ 34.585
sia: US$ 7.887
Oceania: US$ 124
Europa: US$ 1.218
Mundiais: US$ 43.815
39 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 2 - VULNERABILIDADES FRENTE A FENMENOS NATURAIS
enchentes, deslizamentos e tempestades. Somente no perodo de 2000 a 2005,
segundo dados do OFDA/CRED International Disaster Database, os prejuzos
decorrentes de "desastres naturais" somaram mais de 2 bilhes de dlares no
Brasil.
tabela 2.2 "desastres naturais" no Brasil (1990 2005)
n de
eventos
mortos feridos desabrigados afetados
total de
afetados
prejuzos
em uS$ (000s)
deslizamentos 11 525 174 147.100 7.000 154.274 86.000
Enchentes 37 865 1.291 395.010 256.273 652.574 377.170
incndios
naturais
3 0 0 0 12.000 12.000 36.000
Secas 6 0 0 0 11.000.000 11.000.000 1.772.000
tempestades 6 22 140 5.740 150.600 156.480 441.000
total 63 1.412 1.605 547.850 11.425.873 11.975.328 2.712.170
Fonte: EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database. <http: //www.em-dat.net>, UCL - Bru-
xelas, Blgica.
Segunda a Defesa Civil, possvel identifcar caractersticas regionais de
desastres, onde as mais prevalentes so:
Regio Norte - incndios forestais e inundaes;
Regio Nordeste - secas e inundaes;
Regio Centro-Oeste - incndios forestais;
Regio Sudeste deslizamento e inundaes; e,
Regio Sul inundaes, vendavais e granizo.
No Estado de So Paulo, por meio de um levantamento feito das principais
ocorrncias de 1995 a 2002, com base nos dados da Coordenadoria Estadual de
Defesa Civil, pode-se observar que mais de 35.000 pessoas fcaram desabrigadas
nesse perodo, sendo que mais de 65% das pessoas afetadas localizaram-se na
regio do Vale do Ribeira. Entre as cidades mais afetadas, destacam-se: Registro,
Eldorado, Sete Barras, entre outras.
As enchentes assolam a cidade de So Paulo regularmente; chuvas fortes
podem causar srios problemas: alagamentos, enchentes, transbordamento de
40 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 2 - VULNERABILIDADES FRENTE A FENMENOS NATURAIS
crregos, etc.
Fonte: Jornal O Estado de So Paulo, 03 de fevereiro de 2004.
Atualmente, a grande causadora de deslizamentos, recorrentes nas regies
litorneas do Estado de So Paulo, como a Baixada Santista e Litoral Norte, a
ocupao desordenada das encostas (IBGE, 1998 apud GEO BRASIL, 2002).
Quando a populao constri casas nas encostas, ela normalmente realiza
cortes e aterros, desmatamentos, despeja a gua utilizada no prprio solo, utiliza
fossas sanitrias, joga lixo e entulho nas encostas e cultiva plantas imprprias,
tais como a bananeira, que mantm o solo mido.
A populao trabalha para mudar a geometria da encosta e aumentar a
umidade do solo, criando situaes de risco e vulnerabilidades que freqente-
mente resultam em desastres.
Um levantamento feito pelo IPT, realizado a partir de notcias de jornais,
constatou que 1.450 pessoas morreram em consequncia de deslizamentos no
Brasil, entre 1988 e junho de 2003 (PROGRAMA IBEROAMERICNO DE CIEN-
CIA Y TECNOLOGA PARA EL DESAROLLO, 2003).
De acordo com o Sr. Ronaldo Malheiros, coordenador executivo da co-
misso municipal da defesa civil de So Paulo (em entrevista realizada em
17/11/2005), atualmente, depois das enchentes e deslizamentos, os incndios
em favelas so os desastres mais frequentes em So Paulo. Embora no sejam
considerados "desastres naturais", esse tipo de desastre decorrente de uma
vulnerabilidade fsica e social. O desfecho de um desastre dessa natureza o
mesmo verifcado aps um deslizamento ou uma enchente: centenas de pessoas
so afetadas, provocando mortes, causando prejuzos, perdas econmicas e dei-
Foto 2.1
As fortes chuvas que
atingiram a Zona
Leste da cidade de
So Paulo deixaram
inmeros pontos
da cidade submer-
sos. Entre janeiro e
fevereiro de 2004, as
enchentes atingiram
104.000 pessoas em
15 Estados. O preju-
zo com a destruio
de casas chegou a
R$ 99 milhes. Dos
atingidos, 63.178
pessoas tiveram que
deixar suas casas, e
outras 41.147 fcaram
em abrigos.
41 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 2 - VULNERABILIDADES FRENTE A FENMENOS NATURAIS
xando pessoas desabrigadas.
Esta primeira parte do trabalho (captulos 1 e 2) procurou traar um breve
panorama scio-econmico do Brasil; panorama este de muitos problemas e
desastres. De certa forma, o cenrio de pobreza observado possibilitou a melhor
compreenso das condies precrias das habitaes de grande parte da popu-
lao brasileira. Assim, podemos afrmar que a precariedade da habitao pode
ser interpretada como uma situao de vulnerabilidade.
A ocorrncia de um fenmeno natural em reas vulnerveis torna-se uma
ameaa, havendo, dessa maneira, a possibilidade de acontecer um desastre de
origem natural, que podemos concluir tratar-se de um "desastre social", ou seja,
decorrente da ao do homem.
O captulo a seguir (captulo 3) inicia a segunda parte do trabalho, que
busca justifcar a vocao das estruturas transportveis para a utilizao como
abrigos emergenciais.
42 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPtuLo 3
A EVOLUO DAS HABITAES TRANSPORTVEIS
3.1 REFERNCIAS PR-HISTRICAS E VERNACULARES
H aproximadamente dois milhes de anos, os primeiros homindeos eram
adaptados vida em um clima tropical e provavelmente no tinham muita ne-
cessidade por abrigo, alm do uso conveniente de cavernas. Mudanas severas
no clima (como o perodo glacial) e uma conseqente escassez de alimentos,
podem ter favorecido o desenvolvimento do homem e aguado sua intelign-
cia.
Isso signifcou a busca por uma maior fonte de alimentos, o estabeleci-
mento e a criao de abrigos e assim, de acordo com Kronenburg (1995), uma
possvel defnio de assentamentos temporrios e outros permanentes. A habi-
lidade de mudar-se de territrio em territrio era um fator essencial sobrevi-
vncia desses primeiros homens. Nessas viagens era fundamental obter alimento
regularmente e contar com um abrigo. Para esses primeiros homens, assim como
suas ferramentas, armas e roupas, os abrigos demonstraram qualidades manu-
teno de suas vidas, sem os quais no teriam sobrevivido.
Antes de uma completa mudana nos padres de subsistncia, como por
exemplo, o domnio da agricultura, a domesticao de animais entre outros
fatores que tornaram possvel o estabelecimento de assentamentos permanentes
por milhares de anos, o homem era habituado a um modo de vida transitrio.
43 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 3 A EVOLUO DAS HABITAES TRANSPORTVEIS
Somente a partir de 30.000 a 10.000 anos atrs que apareceram assentamentos
maiores e mais elaborados, com cabanas e tendas, que so os primeiros indcios
de assentamentos permanentes.
Fonte: KRONENBURG, 1995.
Ao longo dos anos, diversas sociedades mantiveram sua existncia nmade
como parte de sua cultura, algumas por necessidade, outras por opo. Outras
ainda mudaram para uma vida nmade depois de sculos em comunidades es-
tticas e permanentes, resultando em uma mudana completa e dramtica em
seus estilos de vida e no design de seus artefatos, e mais signifcativamente em
suas moradias.
Os povos nmades no tm base geogrfca permanente, ainda que geral-
mente eles percorram um territrio defnido, sempre associando partes especf-
cas do territrio com certos perodos do ano. Essa caracterstica, segundo Siegal
(2002), deve-se por vrias razes: o estabelecimento de fontes migratrias de
alimentos, adaptao s condies e mudanas climticas, comrcio de merca-
dorias, procura por proteo comunitria, e a busca pelo desconhecido. Destas
culturas regionalmente dspares, muitos dos desafos gerados da necessidade
de prover abrigos so comuns: estes precisam ser durveis, leves, fexveis e por
fm, serem transportados de maneira simples; sendo que isso no signifca que
os abrigos e suas posses no tenham conforto ou beleza.
Entre as formas vernaculares de habitaes desmontveis e portteis desta-
cam-se as tendas Tipi, dos ndios Norte-Americanos; as tendas dos nmades do
deserto, localizados principalmente na regio Norte da frica; e o Yurt na sia.
Figura 3.1
Reconstruo de
uma tenda de 10.000
anos a partir de restos
encontrados em Pin-
cevent, regio norte
da Frana.
44 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 3 A EVOLUO DAS HABITAES TRANSPORTVEIS
3.1.1 TIPI
Tipi uma tenda cnica originalmente feita de peles, desenvolvida pelos
ndios norte-americanos, das grandes plancies. Mesmo variando em tamanho e
em sua complexidade, devido s caractersticas de cada tribo, possvel iden-
tifcar alguns aspectos em comum: sua estrutura feita por uma srie de varas
principais (em geral 3 ou 4 varas) e complementada por varas secundrias que
so amarradas na parte de cima; a cobertura, defnida em uma forma cnica
feita de pele de bfalo.
Fonte: Disponvel em: (http://www.redbeardsranch.com/tipi_(3.jpg
Fonte: KRONENBURG, 1995
Foto 3.1
Muitas das tribos
mudavam de lugar
regularmente, assim
a estrutura de varas
poderia ser erguida
em 5 minutos e a
cobertura de pele em
15 minutos.
Figura 3.2
Processo esquemti-
co de construo de
uma tenda Tipi.
45 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 3 A EVOLUO DAS HABITAES TRANSPORTVEIS
3.1.2 TENDAS NMADES
As tendas dos povos nmades ao Norte da frica foram desenvolvidas ao
longo de milhares de anos. Como o clima e a topografa dessas regies so ex-
tremos, seus habitantes e animais precisam corresponder adequadamente a esse
meio ambiente para sobreviver.
A razo da transitoriedade em suas vidas deve-se ao fato de suas atividades
pastoris: regularmente deslocam seus rebanhos de cabras e camelos para pasta-
gens mais frescas, por distncias relativamente curtas em perodos de poucas se-
manas, porm sazonalmente cobrem grandes distncias para alternar de clima.
A cultura nmade est completamente enraigada em seu modo de existncia;
os Bedunos tradicionalmente rejeitam as habitaes em povoados sedentrios,
pois acreditam que somente a sua existncia nmade a verdadeiramente "li-
vre".
Mesmo havendo um grande nmero de tribos nmades no Norte da frica
e assim, grande variedade nos detalhes e nos padres de suas habitaes, h
alguns aspectos em comum em seus desenhos. Uma cultura de caractersticas
transitrias requer posses leves e transportveis: a cada duas ou trs semanas
os nmades levantam acampamento; os bedunos no possuem nada que no
possa ser transportado por duas pessoas (KRONENBURG, 1995).
Fonte: SHELTER PUBLICATIONS, 1973.
O tecido principal que cobre a tenda composto por tiras de 60cm a 70cm
de largura que so costuradas formando uma cobertura resistente trao exer-
Foto 3.2
Tenda nmade em
um encontro tribal
em Marrocos.
46 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 3 A EVOLUO DAS HABITAES TRANSPORTVEIS
cida pelos tirantes e os prendedores. Esse tecido grande, geralmente retangular,
erguido por varas que tm, na ponta em contato com o tecido, uma espcie
de sapata que serve para distribuir o carregamento exercido pelo tecido, e assim
no rasg-lo.
Toda tenda tensionada por meio de pinos cravados no terreno, em alguns
casos, quando o terreno no tem resistncia sufciente, pedras ou arbustos enter-
rados so utilizados como ncoras (Foto 3.3). As paredes da tenda so suspensas
ao redor e suas bases cobertas com areia ou pedras. As divises internas so
feitas por cortinas. Podem ser feitos inmeros compartimentos ou apenas um
grande espao livre. A construo da tenda tem grande fexibilidade em funo
de sua utilizao. As paredes da tenda podem ser erguidas permitindo a ventila-
o, ou completamente fechadas no caso de tempestades de areia.
Fonte: SHELTER PUBLICATIONS, 1973.
3.1.3 YURT
Yurt a tpica habitao porttil na sia h sculos. tradicionalmente
utilizada por tribos de pastores do Ir at a Monglia. Essa habitao particu-
larmente interessante: embora seja facilmente transportvel, extremamente s-
lida quando erguida. uma espcie de cabana circular com estrutura interna de
madeira; suas paredes raramente ultrapassam a altura de um homem. A parede
Foto 3.3
Detalhe dos tiran-
tes e prendedores;
alguns ancorados por
pedras.
47 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 3 A EVOLUO DAS HABITAES TRANSPORTVEIS
uma estrutura treliada de tiras de madeira e juntas articuladas, que permite a
contrao do painel para transportar e sua expanso para o uso (ver fgura 3.3).
Essa estrutura armada em forma circular onde uma faixa tensora colocada na
parte superior e amarrada estrutura da porta. A cobertura, ligeiramente aboba-
dada, composta por uma estrutura de varas presas uma coroa circular, depois
coberta com feltro ou l (foto 3.4). Geralmente toda a estrutura transportada
em cavalos, s vezes em carroas.
Fonte: Disponvel em: (http://www.motherearthnews.com/library/2002_December_January/Tipis___Yurts)
Fonte: Disponvel em: (http://www.trekearth.com/gallery/Asia/Kyrgyzstan/photo105872.htm)
Figura 3.3
Esquema estrutural e
de montagem de um
Yurt.
Foto 3.4
Exemplos de Yurts.
48 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 3 A EVOLUO DAS HABITAES TRANSPORTVEIS
3.2 O USO MILITAR: O DESENVOLVIMENTO DE HABITAES
TRANSPORTVEIS
Segundo Kronenburg (1995), a construo de edifcaes militares infuen-
ciou diretamente a construo de edifcios desmontveis. A produo de abrigos
portteis no sc. XIX melhorou muito a vida do soldado; em termos de condi-
es de moradia em campo e tambm na proviso de instalaes mdicas mais
adequadas.
Nos confitos do sc. XX alguns fatores como o crescimento vertiginoso de
pessoas envolvidas em operaes militares, aliado falta de materiais conven-
cionais por questes logsticas e ao impacto da tecnologia no aparato militar,
instigaram o desenvolvimento de novas tcnicas na proviso de abrigos port-
teis.
No incio da Primeira Guerra Mundial muitos soldados ainda eram aco-
modados em barracas, embora j houvesse planos para a proviso de abrigos
portteis, dos tipos ento em uso na Europa, para caa durante o inverno. Os
primeiros abrigos desenvolvidos tinham estrutura de madeira, porm eram pe-
sados, de montagem complicada e de difcil transporte. Ainda segundo Kro-
nenburg (1995), o aparecimento do abrigo Nissen Hut, desenvolvido por um
engenheiro canadense, o Capito Nissen, substituiu todos os abrigos at ento
desenvolvidos.
Fonte: Disponvel em: (http://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-E-Logistics1/img/USA-E-Logistics1-p25.
jpg)
Foto 3.5
O abrigo "Nissen
Hut" foi largamente
utilizado na Primeira
e Segunda Guerras
Mundiais.
49 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 3 A EVOLUO DAS HABITAES TRANSPORTVEIS
O abrigo Nissen Hut era produzido a partir de poucos componentes: uma
cobertura semicircular e os dois fechamentos, sendo que em um dos lados adi-
cionavam-se duas janelas e uma porta. As peas de chapas de ferro corrugado
eram intercambiveis; o piso era de painis de madeira, tambm intercambi-
veis, apoiados em beros longitudinais. O abrigo, com dimenses de 8.2m por
4.9m, podia ser montado em at 4 horas por 4 homens, sendo necessrio apenas
uma chave de boca como ferramenta.
Fonte: KRONENBURG, 1995.
At 1917, perto de 20.000 abrigos Nissen estavam em uso, fornecendo
acomodaes para mais de 500.000 soldados. Esse grande sucesso se deveu ao
fato de sua estrutura utilizar componentes fceis de fabricar, intercambiveis e
obedecerem a uma coordenao modular, facilitando assim, sua montagem em
campo.
Durante a Segunda Guerra Mundial houve grande escassez de ao, que
era consumido pela indstria blica para construo de armas, munio, etc.
Essa situao forou novas pesquisas para o desenvolvimento de abrigos que
utilizassem materiais disponveis alternativos. Porm, algumas solues empre-
gadas, como a utilizao de painis de concreto e de outros materiais compos-
tos, mostraram-se difceis de transportar. No momento em que o ao tornou-se
novamente disponvel, o abrigo Nissen Hut voltou a ser utilizado.
Os acontecimentos no ps-guerra contriburam para o desenvolvimento de
novos abrigos, alguns utilizando materiais e tecnologias novas, porm os princ-
pios que nortearam os primeiros projetos se mantiveram:
Figura 3.4
O abrigo porttil
Nissen Hut, de 1917.
Elevao e seo de
um abrigo tpico.
50 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 3 A EVOLUO DAS HABITAES TRANSPORTVEIS
Adaptvel ao local (terreno);
Flexibilidade (layout e forma);
Facilidade de transporte e montagem; e,
Fabricao barata.
Nos anos 60, o exrcito Norte-Americano desenvolveu unidades portteis e
desmontveis para formar uma unidade hospitalar chamada MUST Medical
Unit, Self-contained, Transportable. A estrutura era formada por paredes inf-
veis e complementada por fechamentos infveis rgidos revestidos com alum-
nio. Essa unidade foi muito utilizada na guerra do Vietn e na guerra do Golfo.
Fonte: Disponvel em: (http://www.army.mil/cmh-pg/books/Vietnam/basedev/images-full/foto7.jpg)
3.3 O DESENVOLVIMENTO DE ABRIGOS TRANSPORTVEIS NO
PS-GUERRA
A destruio vivida durante a Segunda Guerra Mundial deu incio a uma
variedade de respostas, em termos de projeto, ao problema do refugiado (de-
sabrigado). Essas experincias ofereceram uma lio valiosa na maneira que as
pessoas respondem aos problemas de destruio de suas casas, seu deslocamen-
to e exigncias subseqentes.
Foto 3.6
Em Outubro de 1966,
o exrcito Norte-
Americano montou
a primeira unidade
mvel hospitalar no
Vietn.
51 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 3 A EVOLUO DAS HABITAES TRANSPORTVEIS
Durante a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais o desenvolvimento de
edifcios portteis e desmontveis foi enorme; isto se deveu ao fato do avano
tecnolgico nesse perodo. A velocidade dos avanos aumenta exponencial-
mente numa situao emergencial; solues inovadoras so levadas a srio para
resolver os problemas e seu desenvolvimento se torna prioritrio.
Infuenciados pelo desenvolvimento de tcnicas de pr-fabricao nesse
perodo, e consequentemente da possibilidade da produo em massa com uma
sensvel melhora na estandardizao de materiais e componentes, alguns arqui-
tetos inovadores desenvolveram inmeros projetos de abrigos portteis.
O arquiteto alemo, Buckminster Fuller, desenvolveu uma srie de abrigos
temporrios transportveis para uso militar durante a Segunda Guerra Mundial.
No entanto, um de seus objetivos era utilizar a tecnologia de produo em mas-
sa em tempos de paz, produzindo habitaes (CROWTHER, 1999). O trabalho
de Fuller foi norteado por duas preocupaes principais: o desejo de introduzir
novos mtodos de produo de habitaes acessveis (baixo custo de produo);
e a importncia do peso (massa) como um componente de projeto do edifcio
(KRONENBURG, 1995).
Seu primeiro projeto signifcativo, voltado questo da habitao, foi a
Dymaxion House. Embora nunca tenha sado do papel, esse projeto, de 1928,
atraiu ateno do pblico em geral e levou Fuller a desenvolver novos projetos
futursticos.
Fonte: KRONENBURG, 1995.
Figura 3.5
Esquerda: projeto da
Dymaxion House,
em Abril de 1928.
Direita: Modifcaes
feitas em Maio de
1929.
52 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 3 A EVOLUO DAS HABITAES TRANSPORTVEIS
Anos mais tarde, no fnal da dcada de 40, Fuller desenvolveu a Wichita
House, que mostrava algumas das caractersticas nas edifcaes portteis de uso
militar. Deveria ser produzida em massa por meio de componentes industriali-
zados, sendo que cada um desses componentes no pesava mais de 5 kg. Sua
montagem poderia ser feita por seis pessoas em apenas um dia. Cerca de 37.000
unidades foram encomendadas, mas foram construdos apenas dois prottipos.
Fonte: KRONENBURG, 1995.
O trabalho do arquiteto Cedric Price infuenciou uma srie de arquitetos;
isto se deveu ao seu interesse na aplicao de conceitos e tecnologias industriais
arquitetura, para alcanar fexibilidade e portabilidade. O esquema proposto
por Price, em 1961, para o Fun Palace, consistia em uma estrutura espacial de
ao que continha auditrios suspensos, onde os pisos, paredes, coberturas e pas-
sarelas eram mveis. Em todo o edifcio havia gruas na cobertura que permitiam
manipular os componentes do edifcio e reposicion-los para atender diversas
atividades. Esse centro comunitrio, de aproximadamente 2.000 m, foi projeta-
do para ser um espao capaz de sofrer inmeras alteraes em seu layout para
abrigar diferentes usos que continuamente mudam.
Foto 3.7
Um dos dois protti-
pos da Wichita Hou-
se foi montado em
1946 na cidade de
Wichita, em Kansas,
EUA. Somente em
1992 foi transportada
para o museu Henry
Ford, em Michigan
53 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 3 A EVOLUO DAS HABITAES TRANSPORTVEIS
Fonte: Disponvel em: (http://www.archinect.com/forum/threads.php?id=7779_0_42_0_C)
Muitos arquitetos foram infuenciados pelo trabalho de Price, como o gru-
po de arquitetos ingleses, Archigram, que projetou uma srie de edifcios port-
teis, adaptveis e temporrios durante os anos 60 e 70.
Frei Otto, outro arquiteto inovador, sempre desenvolveu seu trabalho fun-
damentado na busca da efcincia da forma, leveza e fexibilidade. Suas idias
inovadoras no sc. XX mostraram o potencial das tensoestruturas: sua portabi-
lidade, leveza e fexibilidade so qualidades que podem ser teis para resolver
uma srie de problemas projetuais (KRONENBURG, 1995).
Fonte: Disponvel em: (http://urban.csuohio.edu/~sanda/pic/travel/germany/munchen/)
Figura 3.6
Corte esquemtico do
Fun Palace
Foto 3.8
Cobertura projetada
por Frei Otto, para
a arena olmpica de
Munique, em 1972.
54 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 3 A EVOLUO DAS HABITAES TRANSPORTVEIS
Em 1957, Otto fundou o Centro de Desenvolvimento de Estruturas Leves,
e anos mais tarde, o Instituto de Estruturas Leves na Universidade de Stuttgart.
Ambos contriburam para o desenvolvimento desse sistema construtivo, do qual
Frei Otto tornou-se um dos grandes expoentes.
A segunda parte do trabalho procurou mostrar o desenvolvimento e a evo-
luo das habitaes portteis. Apesar da mudana nos padres de subsistncia
do homem (de nmade para sedentrio), diversas sociedades mantiveram, ao
longo do tempo, suas caractersticas nmades.
A infuncia das habitaes transportveis vernaculares (estudadas no item
3.1) pode ser percebida nas solues propostas por arquitetos e designers con-
temporneos. Solues adotadas para resolver questes como a transportabi-
lidade, facilidade na montagem e desmontagem, resistncia s intempries e
adequao ao clima, ainda so critrios determinantes para o desenvolvimento
de projetos dessa natureza.
Todos esses aspectos intrnsecos a essas estruturas so fundamentais ao de-
senvolvimento de um abrigo temporrio emergencial. Dessa forma, justifca-se,
e possvel compreender melhor, o porqu da utilizao de estruturas transpor-
tveis em situaes de emergncia.
Compreendida a vocao de estruturas transportveis para a utilizao em
situaes emergenciais, como os abrigos temporrios para desabrigados, pode-
mos avanar para a terceira parte deste trabalho (captulo 4), onde estudaremos
mais a fundo os abrigos emergenciais.
55 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPtuLo 4
OS ABRIGOS EMERGENCIAIS
4.1 INTRODUO
No existe hoje o direito explcito ao abrigo; esse direito implcito na
Declarao Universal dos Direitos Humanos (UDHR 1948 Universal Decla-
ration of Human Rights) e em outros documentos elaborados por organizaes
multilaterais como a ONU.
A necessidade por abrigo torna-se fundamental em uma situao de emer-
gncia. Um abrigo pode ser uma das chaves para salvar vidas e prolongar a
sobrevivncia. Essa necessidade, segundo Babister (2002), pode ser percebida
como uma necessidade por:
Proteo de elementos externos;
Preservao da dignidade; e,
Orientao e identidade.
A relao entre um indivduo e os elementos externos pode ser amenizada
com o abrigo. Para um abrigo proteger um indivduo, ele precisa ser construdo
de maneira apropriada aos elementos externos, como o clima, aspectos cultu-
rais, etc., que caracterizam o local onde se localizar o abrigo. Os materiais
1.
2.
3.
56 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 4 OS ABRIGOS EMERGENCIAIS
empregados em abrigos para locais de clima quente devem ter caractersticas
diferentes daqueles para locais de clima frio. Em climas quentes, deve ser dada
ateno ao correto sombreamento dos abrigos e ao controle de doenas. Em
climas frios, questes como exposio ao frio, produo de calor e controle de
condensao tornam-se de grande importncia.
A preservao da dignidade uma questo menos tangvel. A dignidade
exige um entendimento de como o abrigo pode combinar a relao de um in-
divduo com outro. O restabelecimento da dignidade de uma pessoa em uma
situao de emergncia envolve a construo de um lugar que ela possa desfru-
tar de privacidade e segurana. Isso exige que a permeabilidade do abrigo seja
controlada pelo prprio usurio.
Finalmente, um abrigo pode prover orientao e identidade s pessoas. Em
uma emergncia, invariavelmente as pessoas esto traumatizadas e confusas. Al-
guns tipos de abrigos podem fornecer ao indivduo um ambiente que o estimule
a focar em sua situao, e assim, consiga identifcar suas necessidades futuras.
O emprego de materiais e formas familiares pode auxiliar o indivduo a aceitar o
abrigo como um lar. No entanto, diferentes culturas usam o espao de maneiras
diferentes, e o projeto de um abrigo deve levar em conta essas diferenas cultu-
rais.
Em 1996, em Wisconsin, nos Estados Unidos, foi realizada a primeira con-
ferncia para abrigos emergenciais First International Emergency Settlement
Conference e estabeleceu-se que: o acesso a abrigo bsico e contextual-
mente apropriado uma necessidade humana essencial. os padres para este
abrigo podem variar dependendo do contexto cultural, da situao, do clima e
de outros fatores.
Determinar os padres de desempenho para um abrigo emergencial no
uma tarefa fcil; h inmeras variveis complexas que afetam a adequao
da proviso de abrigos. Para melhor ilustrar esse problema, Kronenburg (1998)
aponta alguns fatores que devem ser considerados:
A idade dos usurios do abrigo. Crianas e idosos so mais vulnerveis
ao frio.
Que nveis de roupas quentes as pessoas tm?
Tm cobertores pesados e camas adequadas?
Qual a base alimentar?
57 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 4 OS ABRIGOS EMERGENCIAIS
Qual o nvel de exposio do local a intemprie?
Existem fontes de calor e energia?
Esses padres de desempenho so melhor relacionados com as necessida-
des mnimas (e no os padres normais) que podem ser estabelecidas a partir da
avaliao inicial das necessidades que seguem o incio da emergncia.
Cabe agora, ento, defnir a questo da emergncia.
Ainda segundo Kronenburg (1998), um abrigo emergencial deve sustentar
a vida. As pessoas em um desastre ou os refugiados em casos de confitos arma-
dos tm necessidades imediatas por abrigo. O abrigo deve ser acessvel, ter uma
fonte de gua, um sistema sanitrio, proviso de alimentos e de atendimento m-
dico. Todas essas necessidades so imediatas em uma emergncia, no entanto
devem ser tratadas como provisrias, somente at a reabilitao e reconstruo
das moradias afetadas.
Um abrigo emergencial apropriado pode ter um papel fundamental em im-
pedir mais afies, doenas e mortes populao afetada. Conseqentemente,
os abrigos de emergncia devem ser utilizados pelas vtimas logo nos primeiros
dias do ps-desastre. Nos trabalhos em campo, os agentes (assistncia humani-
tria), que compreendem a situao local, e as prprias vtimas, esto na melhor
posio para decidir a natureza, o nmero e a futura localizao dos abrigos.
O mais cedo possvel, os futuros habitantes dos abrigos devem ser envolvi-
dos em seus projetos e montagem. Devem ser consultados em grupos organiza-
dos sobre a disposio, que deve ser baseada em seus grupos sociais e familiares
precedentes; devem ser envolvidos na locao dos abrigos e na sua montagem
(quando a pessoa se sentir apta fsica e mentalmente).
O abrigo deve ser capaz de suportar os esforos das vtimas de reconstru-
rem suas vidas, atividades econmicas e atividades da comunidade. Deve ser,
conseqentemente, erguido rapidamente e com o mnimo de esforo, e cumprir
sua funo durante o perodo da emergncia sem manuteno adicional. Os
abrigos tambm devem ter uma durabilidade intrnseca ou certa obsolescncia
que os tornem no atrativos para outro tipo de uso que no o de auxlio em
emergncias. Todos os componentes utilizados na construo do abrigo devem
poder ser reciclados em estoque permanente para construo em geral.
A proviso de solues completamente importadas, em alguns casos doa-
das pela comunidade internacional, no pode ser vista como um auxlio em lon-
58 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 4 OS ABRIGOS EMERGENCIAIS
go prazo, pois isto pode aumentar o perigo da dependncia externa por auxlio e
ajuda, enquanto o desenvolvimento da confana local, crescimento econmico
e demais atividades so difcultadas.
4.2 AS SOLUES DE ABRIGOS EMERGENCIAIS
O indivduo que tem necessidade por abrigo pode ser um sobrevivente de
um "desastre natural" ou sobrevivente de um confito, como as guerras. Porm as
necessidades por abrigo para esses dois casos so tratadas de maneira similar. Os
sobreviventes de "desastres naturais" podem passar por vrios tipos de situaes,
de leves estragos nas suas casas at grandes reconfguraes na paisagem ao seu
redor. Isto signifca que ser necessrio fornecer materiais para consertar algum
tipo de avaria em suas casas ou talvez at mesmo uma relocao completa.
As diferentes solues de abrigo tambm podem variar em termos de quan-
to efciente elas so para as necessidades dos sobreviventes. As agncias huma-
nitrias freqentemente enfrentam o dilema de, ou prover abrigo mnimo para
muitos, ou abrigo adequado para poucos.
Existem algumas caractersticas dos abrigos emergenciais que afetam dire-
tamente na forma com que so construdos e fornecidos. Um abrigo para uma
situao de emergncia precisa preencher alguns critrios, que so:
Rpido fornecimento;
Baixo custo;
Exeqvel; e,
Adaptvel.
Os materiais para os abrigos, ou mesmo para os reparos nas casas afetadas
devem levar em conta os perigos envolvidos na emergncia em particular. Para
esses casos existem materiais universais razoveis, como lona plstica; material
impermevel, resistente, fexvel, com aparncia temporria e razoavelmente
durvel. Chapas de ao ondulado galvanizado tambm podem ser apropriadas;
so relativamente baratas de produzir e de transportar.
Os materiais para reparo ou os abrigos devem ser de rpido provisiona-
mento, pois as pessoas esto vulnerveis e precisam de ajuda rpida. O peso e
59 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 4 OS ABRIGOS EMERGENCIAIS
o tamanho do material tambm infuenciam na rapidez com que sero forneci-
dos.
Atualmente cada vez mais comum a utilizao de materiais disponveis
localmente, pois desta maneira h reduo no custo e no tempo de fornecimen-
to, alm de serem familiares aos indivduos e mo-de-obra local. No entanto,
o uso intenso e macio de materiais locais pode provocar uma alta nos preos e
impactos ao meio ambiente.
O abrigo deve se adaptar s mudanas repentinas nas circunstncias. Emer-
gncias complexas podem ocorrer quando uma crise tomada por outra, como
um confito como resultado dos efeitos econmicos aps um "desastre natural".
Um "desastre natural" pode seguir um j existente, como uma enchente segui-
da de um ciclone. Os sobreviventes de um desastre tm reduzidas chances de
sobreviver prxima crise se eles forem colocados em uma situao vulnervel
semelhante quela que eles estavam antes.
Em uma situao de emergncia, onde indivduos tiveram suas casas par-
cialmente afetadas ou at completamente destrudas, h algumas solues para
o auxlio:
reparo e reabilitao das casas: os indivduos que permaneceram em
suas casas (afetadas) so atendidos por programas de reparo e reconstru-
o. So distribudos materiais bsicos para os reparos.
Auto-abrigo: so os indivduos afetados pelo "desastre" que encontra-
ram abrigo em hotis, na casa de amigos ou de familiares. Ou, em alguns
casos, so aqueles que improvisaram abrigos isto quando o clima permite
(porm esta prtica no deve ser encorajada). As famlias ou os amigos que
receberam os desabrigados podem e devem receber auxlio, na forma de
camas extras ou outros utenslios domsticos.
Adaptao de edifcios: se aps o desastre ainda existirem edifcios dis-
ponveis e em condies, abrigos adaptados (tambm conhecidos como
"centros coletivos") podem ser organizados nesses edifcios. Esse tipo de
abrigo pode favorecer as agncias de auxlio humanitrio na distribuio
de alimentos e medicamentos, pois h uma grande concentrao de pes-
soas em um nico local. Normalmente so utilizadas escolas, ginsios,
galpes, etc (este tpico ser mais aprofundado no item 4.5).
Acampamentos de desabrigados: quando todas as opes anteriores se
60 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 4 OS ABRIGOS EMERGENCIAIS
esgotarem, e houver terreno disponvel, os acampamentos de desabrigados
devero ser construdos. Embora o abrigo fornecido nesses acampamentos
tenha o intuito de ser temporrio, metade deles dura mais de 5 anos, e
apenas 25% dura menos de dois anos (este tpico ser mais aprofundado
no item 4.6).
A partir da anlise das solues adotadas por designers e as agncias hu-
manitrias responsveis pela elaborao e provisionamento de abrigos emergen-
ciais transportveis, especifcamente para os acampamentos de desabrigados, foi
possvel averiguar a existncia de duas linhas de pensamento muito distintas: a
primeira sugere a interveno mnima e somente o suporte vida; no se deve in-
terferir com a dinmica de uma emergncia. O auxlio no deve gerar dependn-
cias externas e assim mudar o desejo das pessoas de retornar para suas casas.
Os abrigos emergenciais, nessa linha de pensamento, geralmente so mon-
tados com materiais e tcnicas disponveis no local.
J a segunda linha de pensamento sugere uma interveno maior e melhor
planejada, s vezes a longo termo. Esse tipo de atuao pode gerar certa depen-
dncia da assistncia que deveria ser temporria. Invariavelmente as solues
propostas de abrigos emergenciais para esses casos so de custo elevado e de
alta tecnologia, muitas vezes incompatveis com as necessidades e caractersti-
cas dos usurios.
Assim, a partir dessas duas linhas divergentes de pensamento, os abrigos
emergenciais para acampamentos de desabrigados sero classifcados em dois
grupos principais:
Construes in loco: So os abrigos que podem ser construdos com
materiais disponveis no local. Os custos so mais baixos. Esses materiais
podem ser reciclados pela populao local aps o perodo de emergn-
cia.
Fornecimento de Kits: Devem ser durveis, em unidades pequenas e
leves, com aparncia de temporrio e aceitabilidade cultural. Os inmeros
abrigos propostos nesse grupo podem ser subdivididos em categorias, con-
forme veremos a seguir (itens 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 e 4.2.4).
Invariavelmente, estruturas transportveis so associadas com abrigos emer-
genciais, entretanto sua utilizao nem sempre oferece a soluo mais adequada
(KRONENBURG, 1998). Ao analisar os projetos dessas estruturas transportveis
61 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 4 OS ABRIGOS EMERGENCIAIS
temporrias (os Kits utilizados nos acampamentos) percebe-se que a grande
maioria levou em considerao o usurio fnal e suas caractersticas culturais,
como o objetivo principal.
As razes para o descompasso entre os problemas de auxlio em desas-
tres e as solues propostas (neste caso refere-se aos abrigos emergenciais) so
complexas, mas segundo Kronenburg (1995), a questo fundamental a falta de
compreenso das razes porque os desastres ocorrem e a natureza das circuns-
tncias que as vtimas experimentam aps o desastre. O problema, que pode
ser levantado, que a compreenso e as idias dos designers e das agncias
de assistncia humanitria esto relacionadas com experincias prprias e no
quelas das vtimas reais.
A indstria de estruturas portteis, responsvel pelo fornecimento des-
ses kits, faz uso de uma srie de mtodos para resolver o problema bsico do
acondicionamento e portabilidade. A partir da diviso sugerida por Kronenburg
(1995), esses mtodos sero agrupados em quatro categorias: Module, Flat-pack,
Tensile e Pneumatic.
4.2.1 moDUlE
O sistema Module compreende unidades que so entregues praticamente
prontas ao uso; no necessitam ser montadas. Nesse sistema as unidades po-
dem ser ainda divididas em dois sub-grupos.
O primeiro sub-grupo (foto 4.1) engloba as unidades completamente in-
dependentes, que so entregues prontas ao uso, somente com a necessidade
de conect-las s redes de esgoto, gua e eletricidade.
O segundo sub-grupo (foto 4.2) refere-se s unidades modulares, que tm
o mesmo tamanho de uma unidade independente, mas em funo de necessida-
des especfcas, podem ser conectadas umas s outras, aumentando assim o seu
tamanho. Os materiais mais utilizados nesse sistema so a madeira e o ao; em
alguns casos mais recentes materiais compostos esto sendo utilizados, como
fbras e plsticos. Ambos os sub-grupos so geralmente transportados por cami-
nho e, em casos extremos, por helicptero ou avio.
62 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 4 OS ABRIGOS EMERGENCIAIS
Fonte: Disponvel em: (http://www.army-technology.com/contractors/feld/mobile/)
Fonte: Disponvel em: (http://www.army-technology.com/contractors/feld/mobile/)
4.2.2 FlAT-PACk
As unidades Flat-pack, quando montadas, so muito similares ao sistema
module. Entretanto, a grande diferena a forma com que so entregues: todos
os componentes que integram a unidade esto desmontados, o que signifca que
Foto 4.2
Abrigo formado por
vrias unidades MSS.
Foto 4.1
Um exemplo desse
sistema a unidade
MSS (mobile Shelter
Systems), desenvolvi-
da pela Fora Area
Real Norueguesa.
63 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 4 OS ABRIGOS EMERGENCIAIS
seu tamanho quando transportado muito menor. Outra vantagem deste sistema
se verifca nos casos onde h limitaes ao acesso, assim o tamanho, peso e vo-
lume tornam-se restries. Os materiais utilizados so semelhantes s unidades
module, no entanto a qualidade e efcincia do sistema dependem mais dos
procedimentos de montagem.
Fonte: Disponvel em: (http://www.army-technology.com/contractors/feld/cogim)
Fonte: Disponvel em: (http://www.army-technology.com/contractors/feld/cogim)
Esses dois sistemas module e Flat-pack embora no sejam os mais indi-
cadas para situaes onde espaos mais fexveis so necessrios, so as formas
mais comuns produzidas para o fornecimento de abrigo militar.
Foto 4.3
Abrigo desenvol-
vido pelo exrcito
americano, chamado
COGIN.
Foto 4.4
O abrigo COGIN
pode ser montado
como uma unidade
independente, ou
pode ser conectado
outras para confor-
mar grandes abrigos.
64 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 4 OS ABRIGOS EMERGENCIAIS
4.2.3 TENSIlE
O sistema Tensile apresenta-se mais fexvel e mais indicado para situaes
onde espaos mais fexveis so necessrios. A soluo mais comum empregada
nesse sistema a de uma armao rgida que sustenta uma fna membrana: as
tendas. Existem variaes mais elaboradas desse tipo de estrutura, mas todas as
solues consistem em dois elementos bsicos: uma armao rgida, geralmente
de ao ou alumnio, que trabalha compresso; e uma membrana tensionada
presa armao. O material mais comum utilizado como membrana a lona, e
mais recentemente um composto de polister coberto com PVC.
Fonte: Disponvel em: (www.worldshelters.org/photo.asp)
4.2.4 PNEUmATIC
As estruturas pneumticas ou infveis funcionam de maneira semelhante
s estruturas tensionadas: sua estabilidade deve-se a uma membrana sob tenso;
entretanto, a presso exercida pelo ar. Esse sistema permite a construo de
estruturas de grande porte, leves, fceis de transportar e de montagem rpida.
Ainda existem alguns problemas associados a sua resistncia ao carregamento
exercido pelo vento e seu esvaziamento acidental em casos de furos ou falhas no
fornecimento de ar, pois h a necessidade de suprimento de energia constante.
Foto 4.5
Essas estruturas,
muito similares s
utilizadas em reas
de camping, so as
solues mais empre-
gadas como abrigos
emergenciais. So
estruturas leves, de
baixo custo e fceis
de montar.
65 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 4 OS ABRIGOS EMERGENCIAIS
Fonte: Disponvel em: (http://itek-usa.com/emergency/)
4.3 RECOMENDAES GERAIS
A montagem de abrigos, seja a adaptao de uma edifcao ou o estabele-
cimento de um acampamento de desabrigados, deve seguir uma srie de pr-re-
quisitos. Recomenda-se que o local escolhido seja seguro, em alguns casos fora
da rea do desastre, com fcil acesso, com condies de higiene e sade pblica
e com gua potvel, gs, luz e meios de comunicao (COORDENADORIA ES-
TADUAL DE DEFESA CIVIL, 2001).
Algumas dependncias so necessrias nos abrigos, entre elas:
Dormitrios distribuio por famlias ou por sexo;
Sanitrios masculinos e femininos;
Cozinha;
Refeitrio;
Almoxarifado;
Administrao;
Foto 4.6
Abrigo infvel,
desenvolvido pela
empresa americana
ITEK, que conta com
parties opcionais
que criam divises
internas.
66 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 4 OS ABRIGOS EMERGENCIAIS
Lavanderia;
rea para recreao; e,
Instalaes eltricas e hidrulicas.
Para administrar o abrigo, algumas funes so necessrias, entre elas:
Coordenador;
Secretrio;
Assistente social;
Mdico e enfermeiro;
Chefe de almoxarifado;
Chefe do servio de segurana; e,
Chefe dos servios gerais.
Materiais e equipamentos necessrios:
Primeiros socorros;
Fichrios;
Gneros alimentcios;
Roupas e agasalhos;
Colches;
Cobertores;
Roupas de cama;
Purifcadores de gua;
Material de manuteno hidrulica e eltrica;
67 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 4 OS ABRIGOS EMERGENCIAIS
Material de limpeza;
Extintores de incndio; e,
Geradores.
importante manter vrias atividades para a populao abrigada, evitando
a ociosidade; citamos algumas:
Abertura de valas e fossas (nos acampamentos);
Cozinha coletiva;
Limpeza e manuteno dos alojamentos; e,
Outros servios.
4.4 COMUNICAO SOCIAL E O RELACIONAMENTO ENTRE OS
DESABRIGADOS
importante que fque muito claro que os rgos de defesa civil tm poder
de convencimento e de polcia para disciplinar as relaes entre os desabriga-
dos e destes com o sistema.
Nas instalaes destinadas a hospedar famlias desabrigadas, em circuns-
tncias de desastres, no podem ser admitidas:
Condutas promscuas e que atentem contra a moral e os bons costumes;
Condutas violentas e opressoras por parte de pessoas agressivas, caracte-
rizadas por comportamentos anti-sociais; e,
A utilizao de drogas ilcitas e ingesto de bebidas alcolicas em ex-
cesso.
Tambm as exigncias, relacionadas com a manuteno e a limpeza das
instalaes, com a higiene e o asseio corporal e com a devoluo do material
recebido sob cautela ao trmino das operaes, fazem parte desse cdigo dis-
ciplinar.
a.
b.
c.
d.
68 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 4 OS ABRIGOS EMERGENCIAIS
Todos os desabrigados devem ser incentivados a participar das atividades
de restabelecimento da normalidade e a indolncia e a passividade devem ser
coibidas.
O pessoal de comunicao social, com o pblico interno e com as famlias
afetadas, deve estar familiarizado com os objetivos da promoo social, devendo
utilizar todos os recursos de comunicao social para facilitar o cumprimento
desses objetivos (CASTRO, 1999 vol. 2).
As atividades educativas so os principais recursos da rea de comunica-
o social junto ao pblico interno e s famlias afetadas. Essas atividades devem
ser consideradas como altamente prioritrias, durante todo o perodo em que as
famlias afetadas permanecerem nos abrigos temporrios ou acampamentos.
As atividades educativas devem ser coerentes e articuladas com as aes
de resposta aos desastres e devem ter por objetivo a promoo e o crescimento
social e o desenvolvimento da cidadania.
Tais atividades no devem ser improvisadas, mas planejadas com grande
antecipao, em funo do pblico-alvo e do repertrio de conhecimentos que
se deseja ampliar.
Normalmente, o pblico-alvo constitudo por pessoas defcientemente al-
fabetizadas, de vocabulrio restrito, mas que no so crianas e muito menos
defcientes mentais. Por isso, as cartilhas devem ser redigidas em linguagem sim-
ples, com frases curtas e de uso corrente na comunidade; mas, a redao deve ser
dirigida para adultos.
A comunicao deve ter por objetivo aumentar o repertrio de conheci-
mentos relacionado com a preveno dos desastres mais freqentes na rea,
com primeiros socorros e promoo da sade e com o incremento da cidadania
e do bem-estar social.
4.5 A ADAPTAO DE EDIFCIOS
Assim que o nmero de desabrigados for identifcado, uma junta dever
ser organizada para inspecionar edifcios ou estruturas apropriadas, j pr-iden-
tifcados como um local em potencial para montagem dos abrigos. Os critrios
gerais para identifcar tais estabelecimentos so:
Localizao segura dentro de uma distncia comunicvel das moradias
destrudas;
69 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 4 OS ABRIGOS EMERGENCIAIS
Instalaes sanitrias e lavanderia adequada;
Suprimento abundante de gua;
Alojamentos sufcientes para famlias ou pessoas solteiras;
Sistema de combate a incndio; e,
Locais indicados para montagem de abrigos:
Albergues;
Galpes;
Ginsios;
Igrejas;
Clubes; e,
Associaes recreativas e outros similares.
Deve-se evitar a utilizao de escolas para esses fns, pois poder ocorrer,
dependendo da durao do abrigo, perda de ano letivo.
Quando o abrigo temporrio for instalado em edifcios ou estruturas exis-
tentes, maior ateno deve ser dada ventilao e exausto de odores dos am-
bientes. A quantidade de trocas de ar necessria por pessoas de 30 m por hora
(SKEET, 1977). Talvez seja necessrio o uso de ventilao e exausto mecnica.
Devero existir sadas de emergncia claramente sinalizadas; deve-se evitar o
sobre-carregamento do sistema eltrico; combustveis infamveis devem ser
mantidos fora do edifcio; instrues claras sobre como agir em caso de incndio
devem ser indicadas; equipamentos de sinalizao de emergncia devem estar
sempre em bom funcionamento (SEMINRIO INTERNACIONAL ESTRATGIAS
E AES FRENTE A DESASTRES NATURAIS, 1987).
Para minimizar o potencial de contgio de doenas, em particular as res-
piratrias, assim como providenciar um ganho em conforto para os abrigados,
recomenda-se seguir os seguintes aspectos (CLARDY, 2004):
1. Beliches, camas ou colches devem estar espaados da seguinte maneira:
70 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 4 OS ABRIGOS EMERGENCIAIS
Preferencialmente cada beliche, cama ou colcho deve ocupar
um espao de 5,5m (no mnimo 3,7m);
As camas devem estar espaadas 1,50m uma da outra (no mnimo
70cm);
Caso seja necessrio espaar as camas com menos de 1,5m de
distncia, as fleiras de camas devem ser postas alternadas, em rela-
o aos ps e cabea, para aumentar a distncia das cabeas das
pessoas quando deitadas; e,
Colches no devem ser postos em contato direto com o piso, mas
a pelo menos 30cm de distncia.
2. Quando vrias pessoas so postas juntas em um abrigo temporrio, a
disseminao de doenas, especialmente as respiratrias, pode ser reduzi-
da com a separao das camas com divisrias ou biombos.
O cubculo formado pelas divisrias deve ultrapassar a cabeceira
da cama em 60cm 120cm; e,
A altura das divisrias pode diminuir em direo ao p da cama.
4.5.1 AS INSTALAES SANITRIAS
de comum senso, na bibliografa disponvel, que o edifcio tenha banhei-
ros completos (lavatrios, vasos sanitrios e chuveiros), e que sejam divididos por
sexo. Caso no existam, devero ser providenciados banheiros qumicos port-
teis. Os banheiros devero ser desinfetados e arrumados diariamente. Um nme-
ro mnimo de instalaes sanitrias deve existir para que um edifcio seja utiliza-
do como abrigo. Segundo (SKEET, 1977), (SANTOS, 1999) e (CLARDY, 2004):
1 vaso sanitrio para 10 residentes (mictrios podem substituir at a me-
tade dos vasos sanitrios para os banheiros destinados aos homens);
1 lavatrio para 10 residentes;
1 chuveiro para cada 30 residentes (locais de clima quente), e 1 chuvei-
a.
b.
c.
d.
a.
b.
a.
b.
c.
71 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 4 OS ABRIGOS EMERGENCIAIS
ro para cada 50 residentes (locais de climas temperados);
1 bebedor e 1 pia de servio para 100 residentes; e,
O volume total de gua requerido pode ser estimado com uma dotao
de 40 litros/pessoa/dia.
4.5.2 CONFORTO TRMICO
Segundo Clardy (2004), a temperatura nos abrigos deve ser mantida entre
20C e 28C; j Skeet (1977) aponta a temperatura adequada em torno de 20C.
Ambos autores no deixam claro qual temperatura ideal, isso porque o concei-
to de temperatura ideal depende de vrios fatores. Em pases com clima frio, a
populao est acostumada a temperaturas mais baixas, o que indica uma linha
de conforto trmico diferente da populao de pases de clima quente, acos-
tumada a temperaturas altas. Portanto, devero ser feitos estudos especfcos,
levando em conta o clima da regio, tipo de construo do abrigo, a relao
do espao disponvel e quantidade de pessoas abrigadas e o tipo de atividade
exercida pelos residentes.
No entanto, algumas consideraes gerais podem ser observadas:
1. Consideraes para clima frio:
Aquecedores com queimadores devem estar em locais ventilados
para prevenir o acumulo de monxido de Carbono;
Os aparelhos de aquecimento devem estar inacessveis para evitar
que crianas pequenas se queimem; e,
Aquecedores com queimadores devem estar afastados de mate-
riais combustveis.
2. Consideraes para clima quente:
Ventiladores devero ser providenciados para criar uma circula-
o de ar;
d.
e.
a.
b.
c.
a.
72 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 4 OS ABRIGOS EMERGENCIAIS
gua potvel ou outros tipos de bebida devem ser fornecidos gra-
tuitamente. Outras bebidas oferecidas no devero conter cafena,
lcool ou muito acar, pois tais substncias tm efeito diurtico e
podem causar desidratao;
Sempre que possvel aproveitar as janelas para permitir ventilao
natural; e,
As janelas devem ter grades para garantir a segurana.
4.5.3 REFERNCIAS
Em 1983, um terremoto atingiu a cidade de Popayan, na Colmbia. Cerca
de 300 pessoas morreram e mais de 35.000 foram afetadas.
Fonte: Disponvel em: <http://pro.corbis.com/default.aspx>). Acesso em: 15 mar. 2006.
Em 1995, um grande terremoto atingiu o Japo e causou danos elevados na
regio de Hanshin-Awaji, em cidades como Kobe, Awaji, Ashiya, Nishinomiya
e reas prximas. O abalo, que durou apenas 20 segundos, levou 4.571 vidas
somente na cidade de Kobe; mais de 67 mil moradias foram destrudas. O longo
perodo de estadia nos abrigos temporrios causou uma srie de problemas, es-
pecialmente em crianas, defcientes fsicos e idosos.
b.
c.
d.
Foto 4.7
Vtimas do terremoto
em Popayan aguar-
dam cadastramento
para entrar nos abri-
gos temporrios.
73 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 4 OS ABRIGOS EMERGENCIAIS
As escolas diminuram sua carga horria devido ao uso de suas instalaes
como local de refgio e abrigo temporrio.
Fonte: Disponvel em: <http://pro.corbis.com/default.aspx>). Acesso em: 15 mar. 2006.
Fonte: Disponvel em: <http://pro.corbis.com/default.aspx>). Acesso em: 15 mar. 2006.
Foto 4.8
Mais de 220.000
pessoas fcaram de-
sabrigadas em Kobe.
Cerca de 600 prdios
foram utilizados para
receber os desabri-
gados.
Foto 4.9
Os desabrigados e
seus pertences lota-
ram os abrigos impro-
visados em Kobe.
74 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 4 OS ABRIGOS EMERGENCIAIS
Em outubro de 2003, diversos incndios forestais devastaram, em apenas
6 horas, mais de 4.000 ha no sul da Califrnia. Milhares de pessoas tiveram que
ser desalojadas.
Fonte: Disponvel em: <http://pro.corbis.com/default.aspx>). Acesso em: 15 mar. 2006.
Em agosto de 2005, o furaco Katrina causou grandes prejuzos na regio
litornea do sul dos Estados Unidos, especialmente em torno da regio metropo-
litana de New orleans, onde mais de um milho de pessoas foram desalojadas.
Fonte: Disponvel em: <http://pro.corbis.com/default.aspx>). Acesso em: 15 mar. 2006.
Foto 4.10
Os moradores das
reas de risco, pr-
ximas aos incndios,
foram desalojados
e abrigados em um
hangar do aeroporto
internacional de San
Bernardino, no sul
da Califrnia. Mais
de 1.500 residncias
foram destrudas,
deixando milhares de
pessoas desabrigadas.
Foto 4.11
O estdio Astrodo-
me, em Houston
(Texas), foi adaptado
para receber at 25
mil desabrigados.
Porm, sem sanitrios
sufcientes, suprimen-
tos inadequados e
insufcientes, super-
lotao, problemas
com ventilao e
violncia generaliza-
da tornaram o abrigo
insuportvel.
75 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 4 OS ABRIGOS EMERGENCIAIS
Cerca de 200 mil casas fcaram submersas em New Orleans. A maioria dos
habitantes da cidade foi levada para outras cidades dos estados de Louisiana, Te-
xas e Missouri. Entretanto, vrios dos habitantes desalojados foram transportados
para regies distantes tais como Washington, Ontrio e Illinois.
Fonte: Disponvel em: (<http://sar-team8.org/sar-team8/images/shelter>). Acesso em 15 mar 2006.
4.6 O ACAMPAMENTO DE DESABRIGADOS
A extenso dos estragos sobre uma comunidade, em caso de "desastres na-
turais" extremamente severos, como no caso de grandes terremotos, erupes
vulcnicas ou tsunamis, pode arruinar grande parte das moradias e edifcaes,
inclusive aquelas que eventualmente poderiam ser utilizadas como abrigo provi-
srio. Castro (1999 vol. 1) aponta que nesse caso necessrio que se constitua
abrigos temporrios de barracas (ou outros tipos de kits) em reas afastadas da
rea de risco.
O desenvolvimento de abrigos temporrios, para serem utilizados em
acampamentos de desabrigados, um projeto popular geralmente atribudo aos
estudantes de arquitetura; porm os resultados so raramente testados em campo
e limitados a atender um tipo determinado de clima ou cultura.
Skeet (1977) aponta uma lista de consideraes para o desenvolvimento
desses abrigos:
Foto 4.12
O Centro Cvico,
em Austin (Texas),
foi transformado em
abrigo para 5 mil pes-
soas de New Orleans.
O abrigo foi admi-
nistrado pela cidade
de Austin juntamente
com a Cruz Vermelha
Norte Americana.
76 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 4 OS ABRIGOS EMERGENCIAIS
Custos e facilidade de transporte: Os abrigos devero ser baratos. Ma-
teriais e mo-de-obra local devero ser usados sempre que possvel e qual-
quer material importado deve ser barato, leve e compacto.
Facilidade de construo: Os abrigos devero ser fceis de montar. De-
vem necessitar o mnimo de pessoal treinado para ergu-lo e de nenhum
equipamento no disponvel no local.
Aceitabilidade cultural: A estrutura deve ser similar tanto quanto pos-
svel s edifcaes tradicionais da regio. O uso de materiais locais in-
dicado. O tamanho deve ser apropriado sociedade. Pode ser necessrio
abrigar indivduos solteiros, famlias ou grupos de famlias. Assim a unida-
de dever ter tamanhos variveis.
Adequao ao clima: Material de isolamento trmico deve ser adequa-
do ao clima. O grau de isolamento trmico estabelecido deve levar em
conta a populao usuria do abrigo, as atividades que sero exercidas e
a comida disponvel. A resistncia ao vento tambm deve ser adequada.
A populao dever ser instruda a adaptar o abrigo s mudanas climti-
cas.
Local e disposio dos abrigos: importante que uma rea apropriada
seja selecionada para um acampamento de desabrigados. Tal lugar deve
oferecer drenagem adequada, espao abundante, e suprimento de gua;
deve ser adequado em todas as estaes do ano, e isolada de insetos e
outras pragas.
Efeito de grandes perodos de permanncia: importante que os abrigos
temporrios no sejam sufcientemente permanentes para que no haja peri-
go de se tornarem favelas. Eles precisam ser facilmente desmontados ou con-
vertidos, posteriormente, em armazns, depsitos, abrigo para animais, etc.
O estabelecimento de acampamentos e assentamentos cumpre dois objeti-
vos. O primeiro consiste em garantir que seus habitantes consigam um nvel de
vida o mais parecido possvel ao que alcanam grupos similares que no resi-
dem nesses acampamentos. Sobretudo nos assentamentos temporrios, os traba-
lhadores e organizadores voluntrios s vezes proporcionam servios, alimentos
e moradias muito superiores aos que a populao afetada tinha antes e a que
voltaro a ter depois de terminada a situao de emergncia. Isso produz atritos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
77 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 4 OS ABRIGOS EMERGENCIAIS
com a populao vizinha e faz com que os desabrigados criem expectativas que
as autoridades no podero cumprir. O segundo objetivo consiste em minimizar
os custos de capital recorrentes e o grau de dependncia de uma administrao
externa contnua.
As comunidades se caracterizam no s por suas construes e ruas, mas
tambm pelos seus laos sociais. Quando as pessoas compartilham servios e
tm necessidades comuns, se estabelece um sistema de obrigaes mtuas que
regula o comportamento relacionado com a proteo da propriedade, dejetos e
guas residuais, o uso de latrinas e as reas de recreao para crianas.
Nas populaes marginalizadas, esses servios e a relao entre indivduos
podem ser inadequados, porm nos acampamentos podem ser inexistentes (OR-
GANIZACIN PANAMERICANA DE LA SALUD, 2000). A falta de coeso social
contribui transmisso de enfermidades (por ex. no usar as latrinas) e difculta
sua administrao. Uma ateno adequada e oportuna organizao do acam-
pamento reduzir esses problemas.
Com relao ao projeto e implantao de acampamentos de desabri-
gados, aparentemente as solues atuais so baseadas em uma disposio tipo
militar, onde a convenincia e a efcincia so priorizadas em detrimento da
percepo aos padres sociais, culturais e hbitos dos habitantes. Esse tipo de
organizao pode de fato prejudicar o processo de recuperao da populao
afetada. Segundo a UNDRO:
"As organizaes militares procuram a uniformidade e confor-
midade. Esta preocupao pela ordem simplesmente esperar muito
da populao civil atingida por um desastre. o perodo imediata-
mente aps um desastre um perodo que as pessoas precisam se
unir e desenvolver responsabilidades coletivas. Uma hierarquia mili-
tar (organizao rgida) pode inibir este processo social orgnico".
4.6.1 LOCALIZAO E DESENHO
A localizao do acampamento deve ser estabelecida nos planos de pre-
veno a desastres. A escolha do local afetar todas as decises sobre disponi-
bilidade e provimento de servios. Os acampamentos devem ser desenhados de
tal maneira que agrupem pequenos nmeros familiares ao redor de servios p-
blicos. O acesso a um conjunto de servios determinados (sanitrios, pontos de
78 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 4 OS ABRIGOS EMERGENCIAIS
distribuio de gua, etc) deve limitar-se quele grupo determinado de pessoas.
As "comunidades" individuais dentro do acampamento devem ser peque-
nas o sufciente para estimular o desenvolvimento de estruturas sociais (ORGA-
NIZACIN PANAMERICANA DE LA SALUD, 2000). Muitas das tarefas admi-
nistrativas, como a manuteno da limpeza e da higiene dos acampamentos,
podem ser delegadas em parte a esses grupos, ao invs de design-las a uma
mo-de-obra assalariada. Isso facilita a manuteno e evita o cio dos abriga-
dos. O acampamento pode ampliar-se, contanto que no diminua a qualidade
dos servios, somando-se unidades em sua periferia. Devem ser criadas reas
para a administrao, recepo e distribuio dos residentes do acampamento,
servios de armazenamento, locais de distribuio de provises e reas recrea-
tivas.
4.6.2 RECOMENDAES GERAIS
Castro (1999 vol. 2) recomenda que alguns pontos devem ser observados
quando os acampamentos de desabrigados forem necessrios:
A topografa do terreno deve permitir drenagem adequada. Terreno co-
berto com grama previne a formao de lama ou poeira, mas arbustos e
vegetao excessiva podem servir como toca de animais, insetos, roedores,
etc. e devem ser evitados;
Os acampamentos e abrigos provisrios devem ser instalados em reas
seguras, distanciados das reas crticas e das reas de riscos intensifcados
de desastres;
reas adjacentes zonas comerciais e industriais, expostas nveis
de rudo excessivo, odores, poluio, congestionamento, etc, devem
ser evitadas;
Os acampamentos devem ser espaosos, prevendo-se uma rea de
30 a 40m por pessoa ou de 3 a 4 hectares para cada mil desabriga-
dos;
O local deve estar longe de focos de moscas, mosquitos e depsitos de
lixos, lixeiras, etc. Deve ter acesso adequado s estradas;
1.
2.
3.
4.
5.
79 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 4 OS ABRIGOS EMERGENCIAIS
Dever haver amplo espao para as pessoas serem abrigadas e para
todas as instalaes de uso pblico necessrias.
O campo de abrigos dever ser dividido em duas reas distintas: uma
residencial e outra comunitria (refeitrios, local para atendimento mdi-
co, local para recreao, etc);
Deve existir um grande reservatrio de gua nas proximidades;
As unidades (os kits fornecidos, como tendas, etc) devem ser organizadas
em colunas ao longo de caminhos (estradas) com no mnimo 10m de largura
para permitir trfego adequado. Essa rigidez na organizao dos abrigos pode
no ser adequada para toda comunidade; para tanto, isso deve ser discutido
com a prpria comunidade;
Os abrigos devem ser erguidos ao longo das vias de acesso ou arru-
amentos. Os arruamentos devem ter 10m de largura e os abrigos devem
estar distanciados, no mnimo, a 3m;
Em princpio, os abrigos devem ter aproximadamente 18m e serem di-
mensionados para grupos familiares com 6 pessoas. Sempre que possvel,
os grupos de vizinhana devem ser preservados;
Dentro dos abrigos o espao mnimo por pessoa deve ser de 3m;
Para que as pessoas possam circular livremente entre os abrigos, sem
tropear em cabos ou cordas (no caso de tendas ou barracas), eles devem
ser erguidos a uma distncia de 8m entre eles. O espaamento tambm
assegura que em caso de incndio o fogo no se espalhe;
necessrio que haja abrigos com tamanhos variveis, dimensionados
para vrios tamanhos de famlias ou grupos de pessoas (quando a diviso
dos abrigos for por sexo);
O lugar para depsito de resduos ou lixo deve ser isolado e posicio-
nado de tal maneira que os ventos predominantes da regio no tragam
odores ao acampamento;
Latas de lixo com capacidade de 50 a 100 litros devem ser fornecidas
para a cada 4 ou 8 tendas (25 a 50 pessoas). As latas devem ser colocadas
em plataformas fora do alcance dos animais;
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
80 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 4 OS ABRIGOS EMERGENCIAIS
indispensvel que o acampamento seja dotado de uma fonte ou de-
psito de gua potvel, de capacidade compatvel com o consumo de gua
previsto;
A gua potvel pode ser redistribuda em depsitos de 200 litros, dota-
dos de torneiras e muito bem vedados, para impedir que insetos depositem
seus ovos e os transformem em criadouros de mosquitos. Em princpio,
cada depsito de gua apia 4 famlias;
Valas de drenagem devem ser cavadas ao longo dos arruamentos, em tor-
no dos abrigos e dos pontos de distribuio de gua, para evitar a formao
de lama;
As instalaes sanitrias devem ser montadas a uma distncia razovel
dos abrigos. Os vasos sanitrios so previstos na proporo de um para cada
duas famlias, que se encarregam de sua limpeza e conservao;
Nas reas de acampamento, devem ser previstos um banheiro para
cada 4 famlias e um tanque de lavar roupa para cada 8 famlias;
Em regies de clima frio faz-se necessrio o fornecimento de aquece-
dores de querosene ou semelhante. Os residentes devem ser orientados a
oper-los corretamente a fm de evitar incndios ou exploses;
necessrio que haja ventilao natural nos abrigos;
Como no h gua encanada nesses acampamentos de desabrigados,
tanques de gua devero ser instalados ao longo das ruas. Um desabrigado
no campo no deve andar mais de 100m at um tanque, onde poder pegar
gua;
Valas de drenagem devero ser escavadas ao redor dos abrigos e ao
longo das estradas. Os pontos dos tanques de gua tambm devero ter
drenagem adequada para evitar a formao de lama; e,
Para um gerenciamento adequado e o controle de doenas infecciosas
ou transmissveis, campos muito populosos devero ser evitados, ou subdi-
vididos em unidades independentes com no mais de 1.000 pessoas.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
81 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 4 OS ABRIGOS EMERGENCIAIS
4.6.3 REFERNCIAS
As referncias levantadas de acampamentos de desabrigados foram dividi-
das em dois grupos. O primeiro grupo, composto pelas fotos 4.13 a 4.17, mostra
os abrigos mais comuns e os mais utilizados nesses acampamentos: so barra-
cas improvisadas com materiais de fcil acesso, como lona e madeira; ou so
utilizadas barracas de uso militar ou de camping. O segundo grupo, composto
pelas fotos 4.18 a 4.25, mostra algumas solues inovadoras para a questo dos
abrigos em acampamentos de desabrigados; so utilizadas tcnicas e materiais
alternativos.
Fonte: Disponvel em: <http://pro.corbis.com/default.aspx>). Acesso em: 15 mar. 2006.
Foto 4.13
Em 1988, um grande
terremoto atingiu
a regio norte da
Armnia; a cidade de
Leninakan foi a mais
atingida. Milhares
de pessoas fcaram
desabrigadas. Foram
montados acampa-
mentos provisrios
em reas seguras.
82 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 4 OS ABRIGOS EMERGENCIAIS
Fonte: Disponvel em: <http://pro.corbis.com/default.aspx>). Acesso em: 15 mar. 2006.
Fonte: Disponvel em: <http://www.wol.org/tsunami/india.php>). Acesso em: 15 mar. 2006.
Foto 4.15
Em 2004, um grande
tsunami devastou a
costa de Sumatra,
Tailndia, sul da
ndia, Sri Lanka e as
Maldivas, deixando
milhares de desabri-
gados. Algumas vilas
costeiras na ndia
foram totalmente des-
trudas; aproximada-
mente 5.000 pessoas
fcaram desabrigadas
na cidade de Chennai
(ndia). Mais de 1.000
tendas foram erguidas
como abrigos tempo-
rrios.
Foto 4.14
Em 1988, aps trs
semanas de chuvas
intensas, diversas
cidades do Sudo
sofreram grandes en-
chentes. Vrios distri-
tos foram evacuados
deixando milhares de
pessoas desabrigadas.
83 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 4 OS ABRIGOS EMERGENCIAIS
Fonte: Disponvel em: <http://www.vivekanand.org/tsunami.htm>). Acesso em: 15 mar. 2006.
Fonte: Disponvel em: <http://pro.corbis.com/default.aspx>). Acesso em: 15 mar. 2006.
Foto 4.16
A cidade de Tamil
Nabu, na ndia,
foi uma das reas
mais atingidas pelo
tsunami de 2004.
Tendas improvisadas
foram erguidas com
materiais locais, para
abrigar milhares de
pessoas.
Foto 4.17
Com a utilizao de
materiais e mo-de-
obra locais, gran-
des abrigos foram
construdos na cidade
de Akkaraipettai, na
ndia (Tsunami de
2004).
84 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 4 OS ABRIGOS EMERGENCIAIS
Fonte: Disponvel em: <http://www.operations.mod.uk/garron/>). Acesso em: 15 mar. 2006.
No segundo grupo, que mostra novas solues para os abrigos emergen-
ciais transportveis, destacam-se alguns projetos.
A tecnologia chamada "Superadobe", desenvolvida pelo arquiteto irania-
no Nader Khalili, utiliza terra como principal material. Grandes sacos feitos de
polipropileno, com 35cm at 45cm de dimetro, so cheios com terra, barro ou
areia e depois enrolados em crculos ou em espirais.
Fonte: Disponvel em: <http://www.calearth.org/Emerg_fles/GerDomeUp.jpg>). Acesso em: 15 mar. 2006.
Foto 4.18
As foras armadas
britnicas providen-
ciaram dezenas de
abrigos temporrios,
alimentos, etc aos
desabrigados na
Indonsia (Tsunami
de 2004).
Foto 4.19
Montagem de uma
vila experimental na
Califrnia, EUA. Entre
as camadas de sacos
colocado arame far-
pado para segur-los
na posio desejada.
85 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 4 OS ABRIGOS EMERGENCIAIS
Para manter os sacos no lugar utilizado arame farpado entre as diversas
camadas de sacos. O abrigo acabado pode ter at 5m de dimetro e abrigar uma
famlia de 4 pessoas. Pode-se ainda adicionar uma camada externa de cimento
e terra para garantir maior resistncia e durabilidade.
Fonte: Disponvel em: <http://www.calearth.org/Emerg_fles/VillageHoley.jpg>). Acesso em: 15 mar. 2006.
Fonte: Disponvel em: <http://www.calearth.org/archmag/ArchMag.htm>). Acesso em: 15 mar. 2006.
Foto 4.21
Abrigos montados
com o sistema Supe-
radobe e revestidos
com uma camada de
cimento e terra, no
sul do Ir.
Foto 4.20
Abrigo acabado, sem
nenhum tipo de re-
vestimento (prottipo
montado na Califr-
nia, EUA).
86 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 4 OS ABRIGOS EMERGENCIAIS
Outra soluo interessante foi proposta pelo arquiteto japons Shigeru Ban,
que desenvolveu um abrigo temporrio para as vtimas do grande terremoto de
Kobe (Japo) em 1995. O critrio adotado para o projeto exigia que a estrutura
fosse barata e que pudesse ser montada rapidamente e por qualquer pessoa. O
embasamento do abrigo feito de engradados de cerveja cheios de areia; as
paredes so de tubo de papel e a cobertura de lona plstica, mantida separada
do forro para manter a circulao de ar no vero; e no inverno, o inverso, para
no dissipar o calor.
Fonte: Disponvel em: <http://archnet.org/library/images/one-image.tcl?location_id=7422&image_id=
36219>). Acesso em: 15 mar. 2006.
Fonte: Disponvel em: <http://archnet.org/library/images/one-image.tcl?location_id=7422&image_id=
36219>). Acesso em: 15 mar. 2006.
Foto 4.22
Base de madeira
sendo montada em
cima dos engradados
(abrigo montado
em Kobe, Japo, em
1995).
Foto 4.23
Instalao dos
painis. Os tubos de
papel utilizados tm
108mm de dimetro
e 4mm de espessura.
O abrigo resultante
tem 16m (abrigo
montado em Kobe,
Japo, em 1995).
87 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 4 OS ABRIGOS EMERGENCIAIS
Fonte: Disponvel em: <http://archnet.org/library/images/one-image.tcl?location_id=7422&image_id=
36219>). Acesso em: 15 mar. 2006.
Fonte: Disponvel em: <http://archnet.org/library/images/one-image.tcl?location_id=7422&image_id=
36219>). Acesso em: 15 mar. 2006.
Foto 4.24
Abrigos montados na
Turquia.
Foto 4.25
Foram feitas algu-
mas adaptaes, em
funo das carac-
tersticas culturais
e climticas, para a
construo dos abri-
gos na ndia.
88 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPtuLo 5
ABRIGOS EMERGENCIAIS NA CIDADE DE SO PAULO
5.1 O ATENDIMENTO NO PS-DESASTRE
O atendimento emergencial em So Paulo, aps um "desastre natural" que
tenha causado danos humanos, materiais e ambientais, acionado por meio do
Sistema Municipal de Defesa Civil. A Superviso da Assistncia Social das Sub-
prefeituras (SAS) responsvel pelo atendimento social s famlias e indivduos
desalojados ou desabrigados. O atendimento compreende o cadastramento dos
moradores, distribuio dos materiais de emergncia (cesta bsica, colches,
cobertores, kit higiene), e o encaminhamento para a casa de parentes, amigos,
albergues e abrigos provisrios, dependendo do caso. atribuio de cada Sub-
prefeito identifcar e defnir previamente, os locais que podero funcionar como
abrigo provisrio, sejam em imveis pblicos ou particulares. tarefa do Servio
Social verifcar se esses locais so adequados, se h condies mnimas de con-
forto, e se h banheiros sufcientes e em condies de serem usados.
O gerenciamento dos alojamentos e abrigos provisrios de responsabi-
lidade da Subprefeitura, que dever mant-los em condies de serem pron-
tamente utilizados em caso de necessidade, com as devidas adaptaes para
que seu funcionamento contemple condies adequadas de higiene, seguran-
a, repouso e convivncia. A Guarda Civil Metropolitana dever ser acionada
para a guarda do local; o servio de coleta de lixo dever ser providenciado.
89 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 5 ABRIGOS EMERGENCIAIS NA CIDADE DE SO PAULO
Tambm necessrio que se disponibilize um local para guarda dos pertences
das famlias alojadas.
De acordo com a Sra. Ana Maria Azevedo (coordenadora tcnica da Secre-
taria Municipal de Assistncia e Desenvolvimento de So Paulo), em entrevista
realizada no dia 19/01/2006, no momento de uma emergncia, aps um desas-
tre, as famlias e indivduos desabrigados so levados a um espao disponvel,
como, por exemplo, um centro comunitrio. Em geral, recomenda-se que esse
espao seja perto da rea afetada, onde as pessoas prejudicadas j tenham vn-
culos, assim, ameniza-se, de certa maneira, o trauma gerado pela situao.
Entende-se como centro comunitrio um local que tenha uma cozinha,
banheiros, rea para uma lavanderia e espao para acomodao das famlias e
seus pertences. O espao de uso coletivo, e para evitar problemas separam-se
homens e mulheres (crianas pequenas fcam com as mes). Em um primeiro
momento, cuida-se para que crianas, idosos e defcientes fsicos fquem melhor
acomodados, mas no h possibilidade de acomodar cada famlia em quartos
separados. Os colches, pois no h quantidade sufciente de camas ou beli-
ches para todos, so colocados lado a lado. Essa situao de grande improviso
acontece geralmente no primeiro ou segundo dia. Passados os primeiros dias no
abrigo, tenta-se organizar melhor a distribuio das pessoas; quando possvel,
procura-se aproximar vizinhos e famlias que tenham mais afnidade.
O assistente social que coordena o abrigo procura, junto com os abrigados,
organizar o espao. necessrio que se crie uma rotina, horrios e que se esta-
beleam regras que geralmente so discutidas com todos.
A Secretaria de Assistncia Social fornece o material necessrio para os alo-
jamentos e abrigos provisrios: colches, cobertores, uma cozinha comunitria
(panelas, utenslios em geral, fogo, gs, etc), cada indivduo recebe um kit de hi-
giene, contendo pasta e escova de dente, sabonete, cndida e papel higinico.
Invariavelmente, uma soluo de habitao defnitiva custa a sair do papel,
levando meses para que esses indivduos voltem a ter uma moradia defnitiva.
Passados os trinta dias limites de permanncia nos abrigos, e no caso de no ha-
ver ainda uma soluo defnitiva, a populao deve ser encaminhada para uma
habitao transitria (ou temporria).
Todavia, o prolongamento da permanncia desses assentamentos pode re-
sultar no surgimento de favelas e situaes precrias e vulnerveis que favore-
am o acontecimento de novos desastres.
Caso semelhante aconteceu em So Paulo, no Jardim Pantanal, na Zona
Leste da cidade, onde vrios bairros foram formados indevidamente em reas
90 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 5 ABRIGOS EMERGENCIAIS NA CIDADE DE SO PAULO
inundveis do rio Tiet. Em uma iniciativa do Governo do Estado, foram constru-
das 700 unidades unifamiliares para remoo de 700 famlias daquela popula-
o favelada, que periodicamente corriam o risco de inundao.
Fonte: (COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL, 1999)
A princpio essas famlias desalojadas deveriam permanecer nos alojamen-
tos por um perodo determinado, at que suas moradias defnitivas estivessem
prontas. Aps a sada das 700 famlias, outras 700 ocupariam os alojamentos e,
gradativamente, todas as famlias das reas inundveis seriam retiradas. Porm,
passado o tempo necessrio de remoo, as famlias se recusaram a sair dos
abrigos, pois as moradias defnitivas no fcaram prontas; assim, o alojamento
temporrio transformou-se em favela permanente.
O perodo de permanncia nos alojamento ou abrigos no dever exceder a
trinta dias; a Superviso de Assistncia Social das Subprefeituras ser responsvel
pelo trabalho social com as famlias e indivduos, devendo organizar e acom-
panhar sua rotina. Durante o perodo de permanncia nos abrigos devero ser
planejadas com as famlias as alternativas para o seu encerramento. Aps esse
perodo feito um cadastramento pela SEHAB Secretaria Municipal de Habi-
tao, para futuro atendimento habitacional.
5.2 O PROJETO OFICINA BORACIA
O Projeto Ofcina Boracia, da Prefeitura de So Paulo, que parte do
Foto 5.1
Vista area dos aloja-
mentos temporrios
no Jardim Pantanal.
91 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 5 ABRIGOS EMERGENCIAIS NA CIDADE DE SO PAULO
Programa Acolher Reconstruindo Vidas, atende principalmente moradores de
rua, especialmente os catadores de materiais reciclveis. Alm dos moradores
de rua, h espao destinado aos idosos sozinhos. Um dos desafos do Projeto
refere-se resistncia de muitos moradores em situao de rua a se submeterem
aos horrios e regras do Projeto. Muitos acabam preferindo passar a noite nas
ruas, j que assim no tm seus hbitos cerceados e podem sobreviver da venda
de sucatas.
O conjunto da Ofcina Boracia composto por dois alojamentos (alber-
gues), refeitrio, cozinha, lavanderia, rea para integrao social (grande galpo
com atividades artsticas, etc) e canil.
O albergue 1, com capacidade para 350 pessoas, composto por um gran-
de galpo que foi dividido em 17 baias. Cada uma das baias tem capacidade
para acomodar em mdia 20 pessoas.
Fonte: Acervo do autor.
As quatro primeiras baias destinam-se mulheres e crianas, as demais so
destinadas aos homens. No permitida, aos usurios dos alojamentos, a guarda
de todos seus pertences nas baias, pois no h espao sufciente para acomo-
d-los de maneira organizada; so permitidos somente roupas e outros objetos
de primeira necessidade. Para tentar resolver o problema da falta de espao, foi
criado um guarda-volumes, onde so depositados o restante dos pertences dos
usurios dos alojamentos.
O sistema desenvolvido para adaptar o espao do galpo composto por
uma divisria, de estrutura tubular de ao, com o fechamento feito por telas tipo
Foto 5.2
Vista geral do alber-
gue 1. Galpo foi
adaptado para aco-
modar os moradores
de rua.
92 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 5 ABRIGOS EMERGENCIAIS NA CIDADE DE SO PAULO
mosquiteira. O mobilirio composto por beliches metlicos e alguns armrios
pequenos, fxados aos beliches (foto 5.3).
Fonte: Acervo do autor.
As instalaes sanitrias do albergue 1 foram divididas por sexo: 14 unida-
des (cada unidade composta de vaso sanitrio e chuveiro) destinam-se s mu-
lheres e 8 unidades aos homens. Os lavatrios, 30 no total, servem ao albergue
1 e ao anexo.
Fonte: Acervo do autor.
Foto 5.3
Beliches metli-
cos utilizados no
albegue 1, resistentes
a depredao, com
pequenos armrios
individuais, produ-
zidos pelos prprios
moradores.
Foto 5.4
Vista do dormitrio
anexo ao albergue 1.
O arranjo do espao
semelhante ao
utilizado para abrigos
emergenciais.
93 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 5 ABRIGOS EMERGENCIAIS NA CIDADE DE SO PAULO
O albergue 2, com capacidade para 150 pessoas, destinado somente aos
homens, assim o espao no foi dividido como no albergue 1. O nico mobili-
rio existente so os beliches, dispostos lado a lado, formando corredores com
1m de largura. Oito banheiros completos atendem o albergue. Todos os perten-
ces devem ser guardados no guarda-volumes.
Fonte: Acervo do autor.
Fonte: Acervo do autor.
Foto 5.6
Vista das instalaes
sanitrias do alber-
gue 2.
Foto 5.5
Albergue 2 tem
capacidade para 150
pessoas. O espaa-
mento entre beliches
de 1m aproximada-
mente.
94 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 5 ABRIGOS EMERGENCIAIS NA CIDADE DE SO PAULO
Em situaes de emergncia, a Ofcina Boracia tambm pode servir como
abrigo emergencial para desabrigados de "desastres naturais"; o espao utilizado
para essas situaes o galpo de convivncia, onde so colocados beliches e
as prprias famlias que organizam o espao. No entanto, a organizao que
pudemos constatar mais precria do que a organizao encontrada na seo
dos moradores de rua.
Nesse mesmo espao, destinado aos desabrigados, fcam reunidas diver-
sas famlias, misturando homens e mulheres, e todos os seus pertences, como
mveis, roupas, aparelhos eletrodomsticos, etc., sem haver qualquer separao
que garanta s famlias alguma privacidade.
A Ofcina Boracia tem instalaes semelhantes quelas necessrias a um
abrigo emergencial, porm nela no h condies de abrigar mais do que 30
ou 40 pessoas desabrigadas. Apesar de ser considerado pelas autoridades com-
petentes um possvel local para servir como abrigo emergencial, toda sua infra-
estrutura est voltada ao atendimento de moradores de rua.
Assim como tantos outros edifcios adaptados utilizao como abrigos
emergenciais, a Ofcina Boracia tambm oferece condies precrias para o
atendimento populao desabrigada.
95 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPtuLo 6
SNTESE E CONCLUSES
Em um primeiro momento desse trabalho, desenvolvido ao longo de trs
anos, minhas refexes iniciais, a cerca do tema "desastres naturais" e "abrigos
emergenciais", consideravam apenas os fenmenos naturais e suas consequn-
cias. Os "desastre naturais" eram compreendidos apenas como eventos ameaa-
dores provocados pelas foras da natureza, onde uma comunidade teve alterado
drasticamente o seu funcionamento normal, com perdas de vida e danos de
magnitude em suas propriedades. Essa defnio adotada por diversos autores
e rgos internacionais, como a UNDRO - Escritrio das Naes Unidas para a
Coordenao de Alvio a Desastres.
No entanto, essa abordagem do tema "desastres naturais" mostrou-se insu-
fciente, e de certa forma ingnua para tentar compreender a complexidade que
envolve tal assunto. A partir das refexes indicadas nos captulos 1 e 2, foi pos-
svel constatar e entender a responsabilidade das aes do homem que causam
situaes de risco e potenciais "desastres naturais". Os fenmenos naturais no
causariam nenhum dano se fssemos capazes de compreender o funcionamento
da natureza e assim, criar nosso habitat de acordo com esse conhecimento.
A vulnerabilidade a questo principal no estudo de "desastres naturais".
Vulnerabilidade sinnimo de insegurana: insegurana para existncia, incer-
tezas sobre a sobrevivncia cotidiana e ao mundo ao redor. Essa constatao
fundamental para o nosso estudo. O desastre "natural" decorrente de um
96 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 6 SNTESE E CONCLUSES
desastre fsico, econmico, social, poltico, tcnico, ideolgico, cultural, educa-
cional, ecolgico ou institucional. Quando a vulnerabilidade de uma sociedade
aumenta, os riscos tambm aumentam; estabelece-se, assim, a conformao de
uma condio de risco. A partir dessa linha de raciocnio podemos afrmar que
quanto maior for a degradao ambiental e social, maior ser o desastre, ou seja,
as consequncias sofridas pela populao.
Vamos tomar o caso da cidade de So Paulo como exemplo. Parte consi-
dervel de sua populao vive em condies precrias, principalmente as pes-
soas foradas a se deslocarem para reas perifricas, onde no h oferta de
infra-estrutura bsica e terrenos imprprios so utilizados para a implantao
de moradias como, por exemplo, em encostas ou ao lado de crregos e reas
de vrzea. Essa precarizao da cidade gera vulnerabilidades populao, pro-
vocando assim situaes de risco na ocorrncia de fenmenos naturais; como
chuvas intensas, que podem provocar deslizamentos em encostas, ou enchentes
em crregos ou rios.
A idia ou a noo de risco e vulnerabilidade da cidade frente natureza
passa agora a ter um carter mais social e ambientalista. por esta razo que o
reconhecimento das vulnerabilidades da cidade pode fundamentar uma nova
viso da produo do espao.
A avaliao de uma ameaa em particular deve ser insumo fundamen-
tal para o planejamento urbanstico da cidade, principalmente quando se trata
da verifcao da viabilidade e condies ambientais em possveis zonas para
expanso urbana, impedindo assim, que situaes como a ocupao irregular
de encostas acontea. claro que s a mudana em leis de zoneamentos ou
planos diretores mais elaborados no resolver o problema central: a pobreza.
Ningum constri sua casa em uma rea de risco por opo, mas sim, por falta
de opo.
A partir dessas refexes constatamos que o problema dos abrigos emer-
genciais em pases em desenvolvimento fundamentalmente diferente daquele
de pases desenvolvidos: em pases subdesenvolvidos ou em desenvolvimento,
a questo dos abrigos emergenciais est diretamente associada ao problema da
habitao como um todo.
Em funo do panorama apontado no captulo 2, no Brasil, para uma par-
cela importante da populao urbana o conceito de "abrigo" e de "temporrio",
outro. Em condies "normais" fora do perodo de emergncia as moradias
que a populao marginalizada habita no , via de regra, reconhecida pelas au-
toridades competentes, que quando as reconhecem, as consideram como uma
97 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 6 SNTESE E CONCLUSES
forma de habitao temporria. O prprio indivduo que mora nessas condies
acredita que apenas uma situao "temporria", e assim que possvel ele se
mudar para uma habitao em melhores condies e fora de locais de risco.
Devido a diversos fatores, como o dfcit habitacional, o adensamento ur-
bano (principalmente em favelas), as condies precrias de saneamento bsico
e altos aluguis, o investimento de recursos em abrigos emergenciais pr-fabri-
cados, especifcamente desenvolvidos e armazenados para serem utilizados em
perodos de emergncia aps "desastres naturais", pode apenas gerar obstculos
adicionais proviso de habitaes defnitivas.
Todavia, o papel que o arquiteto e o designer podem desempenhar no de-
senvolvimento de abrigos de carter emergencial indiscutvel.
No decorrer do trabalho apontamos dois caminhos a serem seguidos como
soluo ao desenvolvimento de abrigos emergenciais: a adaptao de edifcios
existentes e os acampamentos de desabrigados. No h um caminho certo e
outro errado; a soluo adotada deve ser compatvel s condies que cercam a
comunidade atingida pelo desastre.
O primeiro caminho, a adaptao de edifcios para utiliz-los como abrigos
emergenciais, um campo praticamente inexplorado por arquitetos e designers.
Todas as referncias levantadas de situaes onde edifcaes, como ginsios,
galpes e escolas foram utilizados como abrigo, mostram condies precrias
em que as pessoas so obrigadas a viver. A partir dessa constatao, podemos
apontar duas possibilidades: a primeira seria o desenvolvimento de um mobili-
rio ou equipamento que melhor adaptasse esses espaos; de maneira que garan-
tisse, dentro do possvel, maior segurana, privacidade e conforto.
A segunda possibilidade seria a construo de novas edifcaes como
galpes, centros comunitrios, etc pelo poder Pblico ou por meio de parceria
com o setor privado, onde seu projeto tambm contemplasse o eventual uso
como um abrigo emergencial. Essas edifcaes seriam utilizadas o ano inteiro
para o fm as quais foram projetadas; mas, no entanto, em perodos de emergn-
cia, elas poderiam ser utilizadas adequadamente como abrigos emergenciais.
O segundo caminho, os acampamentos de desabrigados, uma soluo
mais extrema e merece ateno especial. Conforme mostramos nos captulos 3
e 4, as estruturas desmontveis e transportveis, para o uso em situaes de ps-
desastre, so percebidas como um grande caminho a ser seguido por aqueles
envolvidos no mundo da arquitetura e do design. Existem duas linhas de atuao
bem distintas no desenvolvimento desses acampamentos: a primeira sugere uma
interveno mnima; deve-se somente sustentar a vida, e no criar dependncias
98 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
CAPTULO 6 SNTESE E CONCLUSES
externas. Essa forma de interveno sugere que os prprios desabrigados cons-
truam seus abrigos a partir de materiais e tcnicas existentes no local. Porm,
ser necessria ajuda de equipes externas que possam orientar a montagem e
organizao dos abrigos.
A segunda linha de atuao aponta o desenvolvimento de abrigos emer-
genciais transportveis pr-fabricados, em alguns casos doados pela comunida-
de internacional. Todavia, isso pode agravar um certo equilbrio scio-econmi-
co delicado, pois pode provocar certas expectativas por parte da populao as
quais, na maioria dos casos, nem autoridades locais, nacionais ou at interna-
cionais tm meios de satisfaz-las.
Em algumas situaes, os abrigos fornecidos e a ajuda humanitria, como
os cuidados com a sade e alimentos, so to superiores ao que a populao
afetada experimentava, que essa populao acaba no saindo dos abrigos "tem-
porrios", podendo conformar assentamentos permanentes, que invariavelmente
transformam-se em favelas.
De qualquer maneira, as duas solues so vlidas. No caso de sociedades
em desenvolvimento principalmente nos pases do chamado Terceiro Mundo,
como o caso do Brasil a primeira soluo, a adaptao de edifcios, aparece
como a mais razovel. Mas isto no signifca que as autoridades competentes
no devem estar preparadas para a eventualidade de utilizar abrigos transport-
veis. O tipo de abrigo fornecido deve ser adequado ao usurio fnal, levando em
conta os aspectos culturais, econmicos e sociais da populao atingida.
O fator determinante para o sucesso da soluo adotada encontra-se na
participao da comunidade local os prprios sobreviventes em todas as
decises: a futura localizao do abrigo, que tipo de abrigo ser montado, como
ser feita a diviso dos abrigos, sua manuteno e a futura reconstruo de suas
moradias.
99 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
BiBLioGrAFiA
REFERNCIA BIBLIOGRFICA
BABISTER, E. and KELMAN, I. the emergency shelter process with application
to case studies in Macedonia and Afeghanistan. Journal of Humanitarian Assis-
tance, 2002.
BARROS, Ricardo Paes de, HENRIQUES, Ricardo e MENDONCA, Rosane. desi-
gualdade e pobreza no Brasil: retrato de uma estabilidade inaceitvel. Rev. bras.
Ci. Soc., fev. 2000, vol.15, no.42, p.123-142.
BORGES, Ten Cel PM Elizeu E. T. Proposta de uma coletnea para sistematiza-
o dos procedimentos bsicos do coordenador regional de defesa civil. So
Paulo, 2000.
BURGOS, Marcelo Baumann. Cidade, territrios e cidadania. Dados, jan./mar.
2005, vol.48, no.1, p.189-222.
CARDOSO, A. L. o dfcit Habitacional nas Metrpoles Brasileiras. Indicado-
res Econmicos/FEE - Metrpoles: enfoque sobre a problemtica habitacional,
n1, Curitiba, v. 32, p. 91-116, 2004.
100 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
BIBLIOGRAFIA
CASTRO, Antnio Luiz Coimbra de. Manual de desastres. Vol. 3 desastres
naturais. Braslia, 2003. 86p.
________________________________. Manual de planejamento em defesa civil.
Vol. 1. Braslia, 1999. 69p.
________________________________. Manual de planejamento em defesa civil.
Vol. 2. Braslia, 1999. 86p.
CLARDY, Scott A. et al. Environmental health: operational guidelines. Missouri
department of health and senior services, 2004.
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL. Coordenador operacional
de emergncia Guia prtico. So Paulo, 2001. 20p.
____________________________________________. Aes de defesa Civil. So
Paulo, 1999. 26p.
CROWTHER, Philip. Historic trends in Building disassembly. In: Proceedings
Technology in Transition: Mastering the Impacts - ACSA/CIB 1999 International
Science and Technology Conference. Montreal, 1999.
FERNNDEZ, M.A. et al. Ciudades en riesgo: degradacin Ambiental, riesgos
urbanos y desastres. La Red: Lima, 1996. 100 p.
GEO BRASIL 2002. Perspectiva do meio ambiente no Brasil. Braslia: Edies
IBAMA, 2002. 409 p.
IBGE (Fundao Instituto Brasileiro de Geografa e Estatstica). Pesquisa nacio-
nal por Amostra de domiclios. Rio de Janeiro: IBGE, 2003.
__________________________. Perfl dos municpios brasileiros: pesquisa de
informaes bsicas municipais - gesto pblica 2001. Rio de Janeiro: IBGE,
2002. 245 p.
IFRC (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies). World
disasters report 2003: Focus on Ethics in Aid. Geneva: IFRC, 2003. 248p.
KRONENBURG, Robert. Houses in Motion: the genesis, history and develop-
ment of the portable building. Londres: Academy Editions, 1995. 168 p.
101 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
BIBLIOGRAFIA
____________________. transportable environments: theory, context, design
and technology. Londres: Routledge, 1998. 215 p.
LAVELL, Allan. desastres urbanos: una Visin Global. Woodrow Wilson Center
and ASIES Guatemala publicacin, 2000.
MASKREY, A. et al. Los desastres no son naturales. La RED, Tercer Mundo Edito-
res: Colmbia, 1993. 166 p.
ORGANIZACIN PANAMERICANA DE LA SALUD. Los desastres y la protecci-
n de la salud. Washington, D.C., 2000. 131p.
PASTERNAK, Suzana et al. Favelas e Cortios: anlise de uma experincia did-
tica. So Paulo: FAUUSP, 2000.
_____________________. Espao e Populao nas Favelas de So Paulo. In: XIII
Encontro Nacional de Estudos Populacionais, 2002, Ouro Preto. Anais do XIII
Encontro Nacional de Estudos Populacionais, 2002.
PELLING, Mark et al. the macro-economic impact of disasters. In: Progress in
Development Studies. Londres: Arnold, 2002. p. 283-305.
PROGRAMA IBEROAMERICNO DE CIENCIA Y TECNOLOGA PARA EL DESA-
ROLLO. Habitat en riesgo: Experincias Latinoamericanas. Crdoba: Letras de
Crdoba, 2003. 215p.
RIBEIRO, C. B. C. Loteamentos Clandestinos: a luta pela sobrevivncia e a de-
gradao ambiental no Colina doeste em osasco. 2005. Dissertao (Mestrado
em Cincia Ambiental) - Universidade de So Paulo.
RODRGUEZ, Manuel Argello et al. internacionalizacin y Globalizacin: no-
tas sobre su incidencia en las Condiciones y Expresiones del riesgo en Amrica
Latina. 2001.
SAMPAIO, Maria Ruth Amaral de & PEREIRA, Paulo Csar Xavier. Habitao em
So Paulo. Estud. av., Ago 2003, vol.17, no.48, p.167-183.
SANTOS, MRCIA PINHEIRO. o Saneamento frente s Situaes de Emergn-
cia Motivadas pelas Enchentes - Caso do Municpio do rio de Janeiro. Rio de
Janeiro, 1999. 110 p.
102 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
BIBLIOGRAFIA
SANTOS, MILTON. Metrpole corporativa fragmentada: o caso de So Paulo.
So Paulo: Nobel, 1990.
SEMINRIO INTERNACIONAL ESTRATGIAS E AES FRENTE A DESASTRES
NATURAIS. Salvador, 1987. Estratgias e aes frente a desastres naturais. Bras-
lia, Ministrio da Habitao, Urbanismo e Meio Ambiente, PNUD, 1987. 166p.
SHELTER PUBLICATIONS. Shelter. California: Shelter Publications, 1973. 176 p.
SIEGAL, Jennifer. Mobile: the art of portable architecture. New York: Princeton
Architectural Press, 2002. 127 p.
SKEET, Muriel H. Manual for disaster relief work. Londres: Churchill Living-
stone, 1977. 412 p.
UNITED NATIONS DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS. na-
tural disasters and Sustainable development: understanding the links between
development, Environment and natural disasters. Background Paper No. 5.
New York: United Nations International Strategy for Disaster Reduction,.2002.
UN-HABITAT (2003). Global report on Human Settlements 2003, the Challen-
ge of Slums. Earthscan, London; Part IV: Summary of City Case Studies, pp195-
228.
OBRAS CONSULTADAS
BLANCHARD-BOEHM, Denise. naturl hazards in Latin America: tecttonic for-
ces and storm fury. The Social Atudies. Washington, 2004.
BRYANT, Edward A. natural hazards. Nova York: Cambridge University Press,
1991. 294 p.
BUDYKO, Michael I. Global climatic catastrophes. Nova York: Springer-Verlag,
1988. 99 p.
CALDEIRA, TERESA PIRES DO RIO. Cidade de Muros. Crime, Segregao e Ci-
dadania em So Paulo. So Paulo: EDUSP/Editora 34, 2000.
103 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
BIBLIOGRAFIA
CARDONA, Omar Daro. El impacto econmico de los desastres: esfuerzos de
medicin existentes y propuesta alternativa. Santo Domingo: La Red: 2001.
CARDOSO, F. H. & CAMARGO, C. P. F. de & KOWARICK, L. Consideraes so-
bre o desenvolvimento de So Paulo: cultura e participao. So Paulo: Cebrap
(Srie Cadernos Cebrap, 14), 1973.
ECONOMIC COMMISSION FOR LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN AND
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK. A Matter of development: How to
reduce Vulnerability in the Face of natural disasters. New Orleans, 2000.
FRIEDMAN, Yona. LArchitecture mobile. Tournai: Casterman, 1970. 159 p.
GUHA-SAPIR, Debarati et al. thirty Years of natural disasters 1974-2003: the
numbers. Bruxelas: Presses Universitaires de Louvain, 2004. 188 p.
GUIA DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIN DE LA INFORMACIN NA-
CIONAL. resea para la presentacin de informes e informacin nacional so-
bre la reduccin de desastres para la Conferencia Mundial sobre la reduccin
de desastres. Japo, 2005.
HARDOY, Jorge E. Shelter, infrastructure and services in third world cities. So
Paulo: International Institute for Environment and Development, 1985. 46 p.
KLIKSBERG, Bernardo. Amrica Latina: uma regio de risco, pobreza, desigual-
dade e institucionalidade social. Braslia: UNESCO, 2002. 78p.
KRON, Wolfgang. natural disasters and disaster reduction. Potsdam: Deutsche
IDNDR-Reihe, 1996. 75 p.
LEME, M. C. S. o impacto da globalizao em So Paulo e a precarizao das
condies de vida. EURE (Santiago)- Revista latinoamericana de estudios urbano
regionales, Santiago, v. XXIX, n. 87, p. 23-36, 2003.
MANGE, Ernesto Roberto de Carvalho. A funo abrigo na arquitetura. So Pau-
lo: FAUUSP, 1956. 85 p.
MARQUES, E. C. ; GONCALVES, R. ; SARAIVA, C. As condies sociais na me-
trpole de So Paulo na dcada de 1990. Novos Estudos CEBRAP, So Paulo, v.
73, p. 89-108, 2005.
104 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
BIBLIOGRAFIA
MATTEDI, M. A. A relao entre o social e o natural nas abordagens de hazards e
de desastres. Ambiente & sociedade, Campinas, v. IV, n. 9, p. 93-114, 2001.
MINISTRIO DA HABITAO, URBANISMO E MEIO AMBIENTE. Seminrio in-
ternacional Estratgias e Aes Frente a desastres naturais. Braslia: PNUD,
1987. 166 p.
OFICINA DEL COORDINADOR DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL SO-
CORRO EM CASOS DE DESASTRE. Prevencin y Mitigacin de desastres. Vol.
7 Aspectos Econmicos. Genebra, 1979. 71p.
ORGANIZAO DAS NAES UNIDAS. Escritrio do Coordenador de Auxlio
a Catstrofes. Guidelines for disaster prevention. Volume 1. Pre-disaster physi-
cal planning of human settlements. Switzerland, 1976. 93 p.
____________________________________. Escritrio do Coordenador de Aux-
lio a Catstrofes. Guidelines for disaster prevention. Volume 2. Building measu-
res for minimizing the impact of disasters. Switzerland, 1976. 58 p.
____________________________________. Escritrio do Coordenador de Aux-
lio a Catstrofes. Guidelines for disaster prevention. Volume 3. Management of
settlements. Switzerland, 1976. 84 p.
PASTERNAK, Suzana. Favelas em So Paulo: Censos, Consensos e Contra-sen-
sos. So Paulo: Cadernos Metrpole, n. 5, p. 11-35, 2001.
PATTON, Carl V. et al. Spontaneous Shelter: international perspectives and
prospects. Philadelphia: Temple University Press, 1988. 380 p.
PLANO DE DEFESA CIVIL Comisso EL nio. Blumenau, 1993.
RAPOPORT, Amos. House form and culture. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-
Hall, Inc., 1969. 146 p.
TOPICS GEO AnnuAL rEViEW: nAturAL CAtAStroPHES 2004. Alema-
nha: Munich Re Group, 2005. 56p.
TUCCI, Carlos E. M. et al. Cenrios da gesto da gua no Brasil: uma contribui-
o para a Viso Mundial da gua. BAHiA AnLiSE & dAdoS, Salvador, v. 13,
n. ESPECIAL, p. 357-370, 2003.
105 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
BIBLIOGRAFIA
TURNER, Barry A. Man-made disasters. Londres: Wykeham Publications Ltd,
1978. 254 p.
UNITED NATIONS DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS. na-
tural disasters and Sustainable development: understanding the links between
development, Environment and natural disasters. Background Paper No. 5.
New York: United Nations International Strategy for Disaster Reduction,.2002.
VASSO, Caio Adorno. Arquitetura mvel: propostas que colocaram o seden-
tarismo em questo. 2002. Dissertao (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo)
- Universidade de So Paulo.
VENTURA, A. Produo Seriada e Projeto Arquitetnico: o exemplo de uma
escola secundria. 2000. Tese de Doutorado (Doutorado em Arquitetura e Urba-
nismo) Universidade de So Paulo.
WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION. A decade Against natural di-
sasters. Genebra: 1994. 20p.
106 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
AnExo 1
CONTROLE DE ANIMAIS
Os abrigos emergenciais (alojamentos e acampamentos temporrios) de-
vem ser protegidos de animais selvagens. Geralmente, recomenda-se que no
levem animais de estimao, entretanto eles auxiliam na reduo da ansiedade,
produzindo um efeito teraputico aos abrigados. Nos casos em que os animais
de estimao forem permitidos nos abrigos, alguns itens devem ser observados:
Os animais devem ser acostumados a viver dentro de casa;
Estarem bem cuidados, vacinados, sem pulgas ou carrapatos; e,
No devem incomodar ou ameaar os demais abrigados.
Animais indceis ou que apresentem algum tipo de ameaa no podem
ser permitidos no abrigo. Os animais de estimao sero de responsabilidade
dos donos. Se a permanncia nos abrigos for prolongada, deve-se estudar a pos-
sibilidade de criar um abrigo (canil, etc) exclusivo para os animais de estimao
(CLARDY, 2004).
Tambm poder ocorrer a disperso ou a morte de animais (em grande
nmero nas enchentes, por exemplo). Os animais podem perder seus abrigos.
Pode ocorrer a disseminao de zoonoses. Os cachorros podem voltar vida
selvagem e andar em matilhas. A comunidade, possivelmente mediante grupos
a.
b.
c.
107 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
ANEXO 1
de voluntrios (que sero mais efcazes se tiverem sido treinados antecipada-
mente), dever tomar medidas para executar as tarefas essenciais relacionadas a
seguir (BORGES, 2000):
Destruir as carcaas dos animais: isso no fcil porque so difceis de
queimar, e enterr-las implica uma grande mo-de-obra. Com freqncia,
as carcaas precisam ser borrifadas com gasolina e cobertas com terra para
proteg-las dos predadores, at que possam ser destrudas ou enterradas;
Destruir partes de animais. O mesmo tratamento descrito para as carca-
as dever ser dado aos pedaos de animais em aougues, matadouros e
casas, quando no possvel manter a refrigerao; e,
Dar abrigo aos animais desgarrados; captur-los e trat-los. Os animais
devero ser reunidos em instalaes especfcas para esta fnalidade, assim
como alimentados.
Assim que for possvel, os servios veterinrios devero:
Organizar a vigilncia das zoonoses transmissveis e dos matadouros;
Realizar vacinao em massa, dependendo dos riscos locais, de raiva,
febre aftosa, febre suna, pestes das aves, etc; e,
Eliminar os animais doentes ou isolar as propriedades rurais afetadas.
Em circunstncias de desastres, que resultem na reduo das medidas de
saneamento, h um risco elevado de proliferao de moscas, mosquitos, baratas,
pulgas, carrapatos, piolhos e de roedores. Nessas circunstncias, as medidas de
controle de insetos e de roedores devem ser intensifcadas para proteger a popu-
lao de enfermidades veiculadas pelos mesmos (CASTRO, 1999).
1.
2.
3.
1.
2.
3.
108 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
AnExo 2
ACONDICIONAMENTO, COLETA E DISPOSIO DO LIXO
Nos abrigos devem existir, em pontos pr-determinados, recipientes para
coleta do lixo, sendo que os recipientes devem ser resistentes, com tampa e
alas laterais. Quando no existir coleta regular, o lixo deve ser enterrado em
fossa-vala quadrada, de 0,80m de lado e de 0,80m de dimetro, quando redon-
da, com uma profundidade de 1,80m, tendo tampa de vedao contra moscas
e outros animais. Quando o lixo atingir altura de 0,40 metros de superfcie,
a fossa-vala deve ser fechada (SEMINRIO INTERNACIONAL ESTRATGIAS E
AES FRENTE A DESASTRES NATURAIS, 1987).
A previso de produo de lixo por pessoa de 0,5 kg, com um teor de
umidade de aproximadamente 40% e um peso especfco de 200 kg por metro
cbico. Os recipientes devem ser de 100 litros, bem vedados e protegidos dos
animais, devendo ser esvaziados e limpos diariamente, para evitar a proliferao
de insetos e roedores. A coleta deve ser planejada em funo da quantidade esti-
mada de lixo produzido diariamente. Um caminho com capacidade para 10m
em trs viagens dirias atende a uma populao de 8 mil pessoas. Em casos de
emergncia, podem ser utilizados carroas e outros veculos.
O destino do lixo, dependendo das condies locais, pode ser o aterro
sanitrio, o enterramento simples ou a incinerao (CASTRO, 1999).
109 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
AnExo 3
INSTALAES SANITRIAS
1. DESTINO DOS DEJETOS
Devido s inundaes, torna-se difcil o destino dos dejetos. Para tanto,
sugerimos algumas solues (SEMINRIO INTERNACIONAL ESTRATGIAS E
AES FRENTE A DESASTRES NATURAIS, 1987):
Caso no exista sistema de esgotos, utilizar fossas spticas, uma para
cada 10 pessoas. Dimenses: 0,80m de dimetro ou de lado, se quadrada,
com uma profundidade de 1,80m.
OBS.: importante lembrar que:
guas de enxurrada devem ser desviadas da fossa;
O nvel do terreno da fossa deve ser inferior ao nvel do fundo do poo
de gua;
A distncia mnima de 15m de poo;
A fossa deve ser fechada quando o contedo estiver 0,40m abaixo do
nvel do solo; e,
a.
b.
c.
d.
110 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
ANEXO 3
Em um raio de 2m em torno da fossa, no devero existir vegetao e
lixo.
2. INSTALAES HIDRULICAS
desejvel a existncia de gua quente e fria. Caso o local no tenha ins-
talaes hidrulicas de abastecimento de gua, dever ser providenciado um
reservatrio emergencial que far o abastecimento. O edifcio utilizado como
abrigo deve ter banheiros completos (lavatrios, privadas e chuveiros). Caso no
exista, devero ser providenciados banheiros qumicos portteis. Um nmero
mnimo de instalaes sanitrias deve existir para que um edifcio seja utilizado
como abrigo (CLARDY, 2004):
1 privada para 10 residentes (mictrios podem substituir at a metade
das privadas para os banheiros destinados aos homens;
1 lavatrio para 10 residentes;
1 chuveiro para 8 residentes; e,
1 bebedor e 1 pia de servio para 100 residentes.
3. SANEAMENTO EMERGENCIAL DOS ACAMPAMENTOS E
ABRIGOS PROVISRIOS
Pessoas afetadas por desastres, deslocadas de suas casas e recolhidas em
acampamentos e abrigos provisrios, apresentam:
Queda dos nveis de imunidade coletiva;
Alteraes psicolgicas e comportamentais; e,
Maior vulnerabilidade a problemas de sade mental.
e.
a.
b.
c.
d.
111 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
ANEXO 3
O saneamento emergencial das instalaes depende:
Do estabelecimento de Normas Padres de Ao - NPA, que devem ser
cumpridas por toda a comunidade abrigada;
De medidas construtivas relativas s instalaes e aos equipamentos
para o saneamento ambiental; e,
De medidas de manuteno e de limpeza das instalaes e das habita-
es familiares nos acampamentos e abrigos provisrios.
As Normas Padres de Ao sobre Sanidade Ambiental devem ser ampla-
mente debatidas com a comunidade abrigada. As normas devem ocupar-se de
assuntos extremamente simples e bvios, como:
No escarre no cho e, ao tossir, proteja sua boca e nariz com leno de
papel, para no disseminar doenas respiratrias;
No elimine dejetos no meio ambiente, utilize os mictrios e as priva-
das, que devem ser mantidos em boas condies de higiene; e,
Lave as mos todas as vezes que for privada aps defecar e urinar,
antes das refeies, antes de dormir e ao acordar.
As instalaes sanitrias dos acampamentos, em princpio, devem ser
construdas pelas comunidades, com o apoio e a superviso dos tcnicos e au-
xiliares de saneamento das equipes de sade. O Manual de Saneamento editado
pela Fundao Servios de Sade Pblica - FSESP, do Ministrio da Sade, em
1981, um bom guia para o saneamento rural e de pequenas comunidades e
deve ser consultado pelas equipes responsveis por essas atividades. As Unida-
des Militares do Exrcito so bem instrudas e adestradas sobre saneamento de
acampamentos e higiene em campanha e podero apoiar e supervisionar essas
atividades (CASTRO, 1999).
a.
b.
c.
112 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
AnExo 4
COMBATE A INCNDIO
1. DETECTORES DE FUMAA
Se o abrigo no tiver detectores de fumaa, uma pessoa (ou mais) deve-
r fazer monitoria, durante a noite, para evitar incndios; e
Se o abrigo tiver detectores de fumaa, eles devero estar localizados
nas reas dos dormitrios:
Preferencialmente, os detectores devem estar dispostos no forro,
no centro das reas de dormitrios, mas nunca a menos de 10cm das
paredes; e,
Os detectores tambm podem ser instalados nas paredes, manten-
do afastados do forro de 10 cm 30 cm, evitando pontos cegos na
circulao de ar do ambiente.
2. SADAS
a. Deve existir ao menos duas sadas do edifcio. As sadas devem estar
a.
b.
i.
ii.
113 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
ANEXO 4
localizadas distantes entre si, em uma distncia equivalente a pelo menos
a metade da maior diagonal do piso do ambiente envolvido;
b. Os acessos s sadas devem estar sempre desobstrudos e sempre visveis:
Portas de sada devem ser mantidas em ordem e em funcionamen-
to sem a necessidade de chave, algum tipo de ferramenta, ou conhe-
cimento ou habilidade especial; e,
Qualquer porta, de passagem ou de acesso escada, que no seja
passagem para uma sada e que possa ser confundida como sada,
deve ser identifcada (placa, cartaz, etc) como no sendo uma sada.
c. Os avisos indicando sada devem ser mantidos iluminados a todo o
momento enquanto o edifcio estiver sendo ocupado;
d. A distncia a ser percorrida da rea dos dormitrios at a sada mais
prxima no deve exceder 30m (se houver um sistema tipo sprinkler em
funcionamento, essa distncia pode chegar a 60m); e,
e. As portas devem ser mantidas nas seguintes condies:
Devem abrir na direo de sada do edifcio (isto no inclui as
portas para pequenas salas, que devem abrir para dentro); e,
As portas de sada devem ter um sistema de fechamento automti-
co, como molas hidrulicas.
3. EXTINTORES DE INCNDIO (CLARDY, 2004).
a. Mtodos para extinguir pequenos incndios so desejveis em abrigos
onde pessoas podem estar dormindo, cozinhando ou onde equipamentos
para aquecimento so utilizados:
Tais mtodos devem ser vistos como a primeira linha de defesa
para enfrentar incndios de pequenas propores; e,
i.
ii.
i.
ii.
i.
114 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
ANEXO 4
Se o incndio alcanar um tamanho mais substancial, no se deve
perder mais tempo tentando apag-lo, e sim comear a evacuao do
edifcio, seguida da notifcao da ocorrncia aos bombeiros.
b) Extintores:
D-se preferncia para os extintores comercialmente utilizados,
especialmente os classifcados como classe A, B e C. importante
que observar a classifcao de cada extintor antes de utiliz-lo. A
utilizao incorreta pode rapidamente piorar a situao (utilizar um
extintor de gua pressurizada para apagar um incndio na parte el-
trica do edifcio, por exemplo); e,
No utilizar gua para apagar incndios com leos, gordura ou
em sistemas eltricos.
c. Tipos de extintores:
Classe A slidos comburentes comuns (madeira, papel, plstico,
etc.);
Classe B lquidos ou gases infamveis; e,
Classe C equipamentos eltricos energizados.
d. Todos os equipamentos de combate a incndio devem estar em condi-
es de uso e localizados adequadamente:
A distncia a percorrer at um extintor no deve ultrapassar 22m;
e,
Os extintores portteis devem existir na seguinte proporo 2 de
classe A para cada 10 de classe B e C.
ii.
i.
ii.
i.
ii.
iii.
i.
ii.
115 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
AnExo 5
CUIDADOS COM GUA E ALIMENTOS
1. SUPRIMENTO DE GUA POTVEL
A gua potvel um item crtico de suprimento, tanto nas secas como nas
inundaes. Quando a gua destina-se ao uso humano, ela deve ser potvel.
Em circunstncias de desastres, as necessidades de gua potvel para bebida,
higiene pessoal e preparao de alimentos podem ser as seguintes (CASTRO,
1999):
Em hospitais 40/60 litros / pessoa / dia;
Em centros de alimentao 20/30 litros / pessoa / dia; e,
Em acampamentos e abrigos temporrios 15/20 litros / pessoa / dia.
Durante as inundaes os reservatrios subterrneos de distribuio de
gua potvel so os mais atingidos, como tambm a estao de tratamento de
gua. Diante disso a tendncia procurar gua de outras fontes, de qualidade
duvidosa, muitas vezes sanitariamente insegura. Nesse sentido, citamos algumas
maneiras de obter gua, tais como:
gua fervida;
116 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
ANEXO 5
gua captada diretamente da chuva;
gua de poo no atingido;
gua engarrafada, devidamente inspecionada; e,
gua clorada.
2. GUA CLORADA.
A gua clorada dever ser utilizada uma hora aps a aplicao do cloro,
para guas limpas visualmente. As guas turvas ou barrentas devem ser usadas
somente se no atendidos os itens anteriores a este. Para tanto, faz-se necessria
a fltrao da mesma e logo aps a aplicao do cloro (SEMINRIO INTERNA-
CIONAL ESTRATGIAS E AES FRENTE A DESASTRES NATURAIS, 1987).
tiPoS dE CLoro:
gua sanitria e, ou, lavadeira (Cndida, Qboa) tem 2% de cloro;
Hipoclorito de sdio (conhecido como cloro lquido) tem 10% de cloro
ativo;
Hipoclorito de clcio (HTH, GhNCLOR) tem 70% de cloro ativo; e,
Cal clorada (cloreto de cal) tem 20% de cloro ativo.
doSAGEM dE CLoro:
Para guas de consumo humano: recomendvel no dosar cloro acima
do valor de 3mg/lt de cloro, evitando assim problemas outros, deixando o
espao de 2 horas entre a aplicao do cloro e a utilizao da gua;
Para lavar alimentos, usar 1 mg/lt de cloro, aguardar 1 hora e enxaguar
os alimentos; e,
Para lavar e desinfetar sanitrios, alojamentos, etc, usar 50 mg/lt de clo-
ro e aguardar um tempo de contato de 2 horas.
a.
b.
c.
d.
a.
b.
c.
117 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
ANEXO 5
FrMuLA PArA doSAGEM dE CLoro:
Q =
C x V
, sendo:
(%) x 10
Q = Quantidade de cloro a ser aplicada na gua, em gramas ou mililitro (ml)
C = Dosagem de cloro (mg/l)
V = Volume em litros
% = Concentrao de cloro ativo no produto.
3. ALIMENTOS
Sempre que possvel, o alimento deve ser distribudo s famlias que se res-
ponsabilizam pela preparao de sua prpria comida. A alimentao em massa
em situaes de emergncia contra-indicada, em funo dos riscos de into-
xicao alimentar e de proliferao de doenas veiculadas pela gua e pelos
alimentos. A educao para a sade deve prever contedos relacionados com
(CASTRO, 1999):
O controle da qualidade dos alimentos recebidos;
O controle da gua para a preparao dos alimentos;
A limpeza das instalaes e dos utenslios;
O controle do lixo, de insetos e de roedores;
A preparao, conservao, distribuio e consumo de alimentos; e,
A higiene do pessoal responsvel pela preparao dos alimentos.
Quando no existirem facilidades de refrigerao, somente os alimentos
que sero consumidos durante um dia devero ser preparados.
Se houver risco de falta de alimentos, as autoridades locais e a comunidade
devero organizar um sistema de monitorizao, a fm de evitar a especulao.
Principalmente, muito importante controlar os preos e monitorizar os dispo-
sitivos de abastecimento, armazenamento e distribuio dos alimentos a fm de
118 ABRIGOS TEMPORRIOS DE CARTER EMERGENCIAL
ANEXO 5
impedir que os alimentos desapaream do mercado e sejam vendidos de forma
ilegal.
Se houver risco de m nutrio resultante de escassez de alimentos, poder
ser necessrio distribuir alimentos populao. Isso acontece, em especial, no
caso de populaes deslocadas. importante que a comunidade se engaje ativa-
mente na organizao da distribuio dos alimentos. Poder ser estabelecido um
comit local, constitudo por representantes da comunidade, indivduos entre
a populao fagelada e voluntrios. A constituio desse comit, que dever
coordenar a distribuio de alimentos, ajudar a eliminar falhas, assim como a
prevenir favoritismos e abusos.
importante que os alimentos distribudos sejam culturalmente aceitveis,
assim como conhecidos e utilizados pela populao. Quando for necessrio
distribuir alimentos vindos do exterior, que a populao fagelada desconhea,
devero ser feitas demonstraes sobre sua preparao. Em comunidades muito
pobres, dever evitar-se a distribuio de alimentos manufaturados, de modo
a no interferir com os hbitos alimentares e a capacidade de usar alimentos
frescos locais.
Na medida do possvel, a distribuio de alimentos preparados dever ser
evitada, uma vez que poder sugerir que a populao fagelada ser assistida
em massa. importante a afrmao do princpio de que a comunidade deve
ser auxiliada a retomar as suas atividades normais, a sua autonomia e as suas
iniciativas (BORGES, 2000).
Você também pode gostar
- Favela Não: Não Somos Marginais, Fomos Marginalizados - Vinicius Santos Da SilvaDocumento8 páginasFavela Não: Não Somos Marginais, Fomos Marginalizados - Vinicius Santos Da SilvaIolly Aires100% (1)
- A Vegetacao em PortugalDocumento335 páginasA Vegetacao em PortugalAndre GodinhoAinda não há avaliações
- Tese - Lúcia Moreira Do Nascimento - VERSÃO DEFINITIVADocumento473 páginasTese - Lúcia Moreira Do Nascimento - VERSÃO DEFINITIVABethânia RibeiroAinda não há avaliações
- Nos Somos A Paisagem PDFDocumento39 páginasNos Somos A Paisagem PDFPriscilla Lyra BarbalhoAinda não há avaliações
- (2014) CORREIA. Utilização de Bambu Na ConstruçãoDocumento107 páginas(2014) CORREIA. Utilização de Bambu Na ConstruçãoMilene EloyAinda não há avaliações
- Projeto Arquitetônico - Silvia OdebrechtDocumento126 páginasProjeto Arquitetônico - Silvia OdebrechtCamila Diógenes da Costa100% (2)
- Parecer Herbicida 24-D Karen FriedrichDocumento45 páginasParecer Herbicida 24-D Karen FriedrichCaioNatarelliAinda não há avaliações
- Prostituição No Rio de Janeiro PDFDocumento7 páginasProstituição No Rio de Janeiro PDFRaphael de FariaAinda não há avaliações
- Apostila 03-Pesquisa Bibliográfica - FichamentoDocumento2 páginasApostila 03-Pesquisa Bibliográfica - FichamentojheldersilvaAinda não há avaliações
- DISSERTAÇÃO Theska Laila de Freitas SoaresDocumento287 páginasDISSERTAÇÃO Theska Laila de Freitas SoaresJorge Vinicius Oliveira MaronAinda não há avaliações
- MARX - Prefácio para A Crítica Da Economia Política PDFDocumento6 páginasMARX - Prefácio para A Crítica Da Economia Política PDFDaniel SanchesAinda não há avaliações
- Evolução Das Esquadrias de Madeira No BrasilDocumento8 páginasEvolução Das Esquadrias de Madeira No BrasilLuiz SantosAinda não há avaliações
- JoanFontBalleste REVDocumento218 páginasJoanFontBalleste REVleonelAinda não há avaliações
- Aula 0 - o Desenho Ecológico, Sustentabilidade e A Teoria de Sistemas-MescladoDocumento118 páginasAula 0 - o Desenho Ecológico, Sustentabilidade e A Teoria de Sistemas-MescladoJAINNY LIMAAinda não há avaliações
- Desafios e Dilemas Da História Oral - Marieta de Moraes FerreiraDocumento10 páginasDesafios e Dilemas Da História Oral - Marieta de Moraes FerreiraLaércioAinda não há avaliações
- Atalhos AvidDocumento2 páginasAtalhos Avidhelena xxAinda não há avaliações
- Ponto de MutaçãoDocumento3 páginasPonto de MutaçãoGabriela GarciaAinda não há avaliações
- 9703-Mapa Mental Definição BioDocumento1 página9703-Mapa Mental Definição BioIgor Rogerio100% (1)
- Livro - Ecologia Urbana e Poder LocalDocumento196 páginasLivro - Ecologia Urbana e Poder Localmymo_sanchezAinda não há avaliações
- Transition Towns Talk by Isabela Maria Gomez de MenezesDocumento121 páginasTransition Towns Talk by Isabela Maria Gomez de MenezesIsabela MenezesAinda não há avaliações
- O Bambu Na Construcao RuralDocumento64 páginasO Bambu Na Construcao RuralNelio CostaAinda não há avaliações
- Ecovila Rurbana em Foz Do Iguaçu - TFG 1Documento124 páginasEcovila Rurbana em Foz Do Iguaçu - TFG 1nandocpires50% (4)
- O Uso de Taipa de Pilão Na ArquiteturaDocumento70 páginasO Uso de Taipa de Pilão Na ArquiteturaMaria RennóAinda não há avaliações
- CTR 17 Congressos-Construcao-IIDocumento134 páginasCTR 17 Congressos-Construcao-IIAngelo Daniel SoaresAinda não há avaliações
- Chaui CienciasDocumento2 páginasChaui Cienciascecav75Ainda não há avaliações
- SAFATLE, Vladimir. Uma Arqueologia Do Conceito de Liberdade No OcidenteDocumento140 páginasSAFATLE, Vladimir. Uma Arqueologia Do Conceito de Liberdade No OcidenteRodrigo895Ainda não há avaliações
- Produção de Húmus de Minhoca Com Resíduos Orgânicos DomiciliaresDocumento11 páginasProdução de Húmus de Minhoca Com Resíduos Orgânicos Domiciliaresandre.ruthes5738Ainda não há avaliações
- Abelhas Sem Ferrao Relevantes para A Meliponicultura No Brasil-V-1-0Documento98 páginasAbelhas Sem Ferrao Relevantes para A Meliponicultura No Brasil-V-1-0Juciêr AlcântaraAinda não há avaliações
- Metodologiacientifica ApostilaDocumento39 páginasMetodologiacientifica ApostilaAlex SantiagoAinda não há avaliações
- Casas em LSFDocumento26 páginasCasas em LSFAntónio José Mendes PedrinhoAinda não há avaliações
- O Ritual Do Corpo Entre Os SonaciremaDocumento7 páginasO Ritual Do Corpo Entre Os SonaciremaBianca SaggeseAinda não há avaliações
- Arquitetura e PsicoDocumento26 páginasArquitetura e PsicoUltraleve LeveAinda não há avaliações
- Audicao 3Documento301 páginasAudicao 3Alice FerminoAinda não há avaliações
- SOCICOM 2020 Livro PDFDocumento418 páginasSOCICOM 2020 Livro PDFGuilherme Nery AtemAinda não há avaliações
- Aracruz Credo - 40anos de Violacao e Resistencia No ESDocumento202 páginasAracruz Credo - 40anos de Violacao e Resistencia No ESguileresende100% (3)
- Aves Migratorias Do PantanalDocumento100 páginasAves Migratorias Do PantanalluizlacerdafAinda não há avaliações
- Texto 04, Cassirer, o Homem Como Animal SimbólicoDocumento2 páginasTexto 04, Cassirer, o Homem Como Animal SimbólicoBolatron100% (2)
- Cadernos2011 - Animismo MaquinicoDocumento292 páginasCadernos2011 - Animismo MaquinicoIdjahure KadiwelAinda não há avaliações
- O Desenho É Uma Forma de EscutaDocumento68 páginasO Desenho É Uma Forma de EscutaLeandro AndradeAinda não há avaliações
- Macrocaracterização Dos Recursos Naturais Do Brasil IbgeDocumento183 páginasMacrocaracterização Dos Recursos Naturais Do Brasil IbgeDaniela Doms100% (1)
- FUNDAMENTOS HISTÓRICOS DA ECOLOGIA UMA ANÁLISE DA LITERATURA ECOLÓGICA Fernando Dias de Avila-PiresDocumento277 páginasFUNDAMENTOS HISTÓRICOS DA ECOLOGIA UMA ANÁLISE DA LITERATURA ECOLÓGICA Fernando Dias de Avila-PiresRicardo BitencourtAinda não há avaliações
- Abelha Jandaíra Livro EletronicoDocumento129 páginasAbelha Jandaíra Livro EletronicoAndré Pimentel50% (2)
- Pensamento Critico e ArquiteturaDocumento16 páginasPensamento Critico e ArquiteturaMonique CandeiaAinda não há avaliações
- Aula 02 - Estruturas de MadeiraDocumento24 páginasAula 02 - Estruturas de MadeiraRafael NascimentoAinda não há avaliações
- Parq0417 DDocumento200 páginasParq0417 DEliseuAinda não há avaliações
- Uso de Adesivo Cirurgico em CãesDocumento12 páginasUso de Adesivo Cirurgico em CãesAlexandre ScalabriniAinda não há avaliações
- Testo de Apoio3 PDFDocumento74 páginasTesto de Apoio3 PDFarceniaAinda não há avaliações
- BioconstrucaoDocumento19 páginasBioconstrucaoBioconstrução GuaraciabaAinda não há avaliações
- Bambucreto - Monografia Fernanda de Melo NogueiraDocumento42 páginasBambucreto - Monografia Fernanda de Melo NogueiraMauricio LozanaAinda não há avaliações
- O Indivíduo e A Díade (Georg Simmel) PDFDocumento8 páginasO Indivíduo e A Díade (Georg Simmel) PDFEmanuel LuzAinda não há avaliações
- WORKSHOP - Maputo PDFDocumento5 páginasWORKSHOP - Maputo PDFLeonardo MondlaneAinda não há avaliações
- Metodologia de Ecodesign para o Desenvolvimento de ProdutosDocumento110 páginasMetodologia de Ecodesign para o Desenvolvimento de ProdutosMonelise Vilela100% (2)
- A Ética Hacker Pekka HimanenDocumento18 páginasA Ética Hacker Pekka HimanenGentil Serra Jr.Ainda não há avaliações
- Resenha - Critica - Ponto de MutaçãoDocumento3 páginasResenha - Critica - Ponto de MutaçãoJackson SilvaAinda não há avaliações
- E-Book Completo - Projeto de Paisagismo II - DIGITAL PAGES (Versão Digital)Documento111 páginasE-Book Completo - Projeto de Paisagismo II - DIGITAL PAGES (Versão Digital)Jozafar FilhoAinda não há avaliações
- Construções em MadeiraDocumento15 páginasConstruções em MadeiraCintia PedrolloAinda não há avaliações
- Livro Encontros e Caminhos Vol. 3Documento454 páginasLivro Encontros e Caminhos Vol. 3Elizete SantosAinda não há avaliações
- Concreto Translúcido: Como ver através de paredes? Usando nano óptica e misturando concreto fino e fibras ópticas para iluminação durante o dia e a noiteNo EverandConcreto Translúcido: Como ver através de paredes? Usando nano óptica e misturando concreto fino e fibras ópticas para iluminação durante o dia e a noiteAinda não há avaliações
- Dissertacao DesbloqueadoDocumento119 páginasDissertacao DesbloqueadoLeonardo VictorAinda não há avaliações
- Junqueira MG TCC PrudDocumento108 páginasJunqueira MG TCC PrudAvimar JuniorAinda não há avaliações
- Tese Antonio Gilberto Abreu de Souza PDFDocumento376 páginasTese Antonio Gilberto Abreu de Souza PDFJaqueline VieiraAinda não há avaliações
- Analise Estrutural - FtoolDocumento50 páginasAnalise Estrutural - FtoolStephanie Selke Novoa100% (1)
- Dissertacao de Mestrado Elias Santos JuniorDocumento201 páginasDissertacao de Mestrado Elias Santos JuniorsantoseliasAinda não há avaliações
- Teorias Da Cultura - Laura PiresDocumento231 páginasTeorias Da Cultura - Laura PiresSophie PhiloAinda não há avaliações
- Dissertação - Uso de ContainersDocumento196 páginasDissertação - Uso de ContainersLuana Toralles CarbonariAinda não há avaliações
- A Concepcao Estrutural e A Arquitetura Yopanan Rebello PDFDocumento272 páginasA Concepcao Estrutural e A Arquitetura Yopanan Rebello PDFLuana Toralles CarbonariAinda não há avaliações
- Exercicios 3 PDFDocumento14 páginasExercicios 3 PDFLuana Toralles CarbonariAinda não há avaliações
- NBR 13749 Revestimentos de Paredes e Tetos de Argamassa PDFDocumento6 páginasNBR 13749 Revestimentos de Paredes e Tetos de Argamassa PDFLuana Toralles CarbonariAinda não há avaliações
- Man 1997 Construcoes RuraisDocumento170 páginasMan 1997 Construcoes RuraisLuiz LamgAinda não há avaliações
- ABNT NBR 7212 - Execução de Concreto Dosado em Central 2a EdiçaoDocumento22 páginasABNT NBR 7212 - Execução de Concreto Dosado em Central 2a EdiçaoLuana Toralles Carbonari100% (1)
- Construção Modular - Desenvolvimento Da Ideia - Sérgio PatinhaDocumento184 páginasConstrução Modular - Desenvolvimento Da Ideia - Sérgio PatinhaLuana Toralles CarbonariAinda não há avaliações
- Processo de ConcretagemDocumento8 páginasProcesso de ConcretagemLuana Toralles CarbonariAinda não há avaliações
- Manual ContainersDocumento2 páginasManual ContainersLuana Toralles CarbonariAinda não há avaliações
- Zila Mamede (1953-1985) Poesia de Silêncio e RumorDocumento17 páginasZila Mamede (1953-1985) Poesia de Silêncio e RumorEduardo RosalAinda não há avaliações
- Matita de Boa Vista - Laura JamonDocumento36 páginasMatita de Boa Vista - Laura JamonFacundo BuarqueAinda não há avaliações
- Trabalho de Educação FísicaDocumento8 páginasTrabalho de Educação FísicaAlceu FiuzaAinda não há avaliações
- Fuzz BrasilianaDocumento35 páginasFuzz BrasilianaSebo Os AlquimistasAinda não há avaliações
- 1 ProvaDocumento20 páginas1 ProvaAdemir DiasAinda não há avaliações
- Uma Antologia Do Conto GoianoDocumento242 páginasUma Antologia Do Conto GoianoDavi LaraAinda não há avaliações
- Curva Chave - ArtigoDocumento9 páginasCurva Chave - ArtigoTássily Lopes C. HoffmannAinda não há avaliações
- O Catolicismo Militante em Minas Gerais - Aspectos Do Pensamento Histórico-Teológico de João Camilo de Oliveira Torres PDFDocumento46 páginasO Catolicismo Militante em Minas Gerais - Aspectos Do Pensamento Histórico-Teológico de João Camilo de Oliveira Torres PDFGustavo S. C. MerisioAinda não há avaliações
- 308 595 1 SM PDFDocumento241 páginas308 595 1 SM PDFDiego EstevamAinda não há avaliações
- D.O Angra Dos Reis25 - 10 - 2010 PV251010 - 7Documento1 páginaD.O Angra Dos Reis25 - 10 - 2010 PV251010 - 7francisco21072010Ainda não há avaliações
- Brasil RepúblicaDocumento53 páginasBrasil RepúblicaAlisson Fonseca TavaresAinda não há avaliações
- História Da Conjuração Mineira - UnlockedDocumento445 páginasHistória Da Conjuração Mineira - UnlockedJawa SickAinda não há avaliações
- 2020-01-16 2º Termo Aditivo SEEDUC Nº 01-2020 Ao Convênio Municipalização Nº 46-2018 - Mesquita - E-03-001-3303-2017Documento1 página2020-01-16 2º Termo Aditivo SEEDUC Nº 01-2020 Ao Convênio Municipalização Nº 46-2018 - Mesquita - E-03-001-3303-2017Lucas CorreiaAinda não há avaliações
- Rio de Janeiro 2024-04-30 CompletoDocumento164 páginasRio de Janeiro 2024-04-30 CompletoAnderson BatataAinda não há avaliações
- LEONZO, Nanci Um Reduto Intelectual Na Sua Intimidade o Instituto Histórico e Geográfico BrasileiroDocumento235 páginasLEONZO, Nanci Um Reduto Intelectual Na Sua Intimidade o Instituto Histórico e Geográfico BrasileiroGabriel AssisAinda não há avaliações
- Associados Por Comites ANPAP 2021-2022Documento44 páginasAssociados Por Comites ANPAP 2021-2022Daniel Paz de AraújoAinda não há avaliações
- 7ºsimulado Sas 2014Documento36 páginas7ºsimulado Sas 2014AventrilhandoAinda não há avaliações
- EDITAL de Queimados 2019Documento39 páginasEDITAL de Queimados 2019EduardoLuizGraçaReisAinda não há avaliações
- Programa de Brasil III 2019.1Documento16 páginasPrograma de Brasil III 2019.1vnbarrosAinda não há avaliações
- História Das Escolas Polivalentes - Profº EuclidesDocumento13 páginasHistória Das Escolas Polivalentes - Profº Euclidesyvanildo100% (2)
- 4 Turismo Cinematografico em Nova York A Influencia Dos Filmes Na Imagem Turistica Da Cidade - Kamila Souza e SilvaDocumento106 páginas4 Turismo Cinematografico em Nova York A Influencia Dos Filmes Na Imagem Turistica Da Cidade - Kamila Souza e SilvaShantala SouzaAinda não há avaliações
- 1292864308.livro Inventarios v.1Documento614 páginas1292864308.livro Inventarios v.1JEGUATAAinda não há avaliações
- Estradas de FerroDocumento31 páginasEstradas de FerroFernanda SilvaAinda não há avaliações
- My Publications - Geografia - 3A - C3 - As Paisagens Ao Meu RedorDocumento18 páginasMy Publications - Geografia - 3A - C3 - As Paisagens Ao Meu RedorAna CristinaAinda não há avaliações
- Mario Quintana Antes Dos Livros Uma Micro-Historia LiteráriaDocumento30 páginasMario Quintana Antes Dos Livros Uma Micro-Historia LiteráriaIago MouraAinda não há avaliações
- NakanoAndersonKazuo DDocumento348 páginasNakanoAndersonKazuo DArmando FunariAinda não há avaliações
- Como Nascem Os MonstrosDocumento13 páginasComo Nascem Os MonstrosWSO2405Ainda não há avaliações