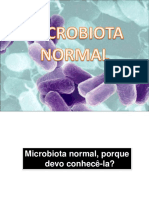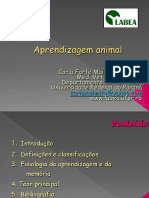Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Apostila Aulas Praticas Bac Microbiologia
Apostila Aulas Praticas Bac Microbiologia
Enviado por
Ângela Ribeiro De Oliveira Carvalho0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
3 visualizações20 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
3 visualizações20 páginasApostila Aulas Praticas Bac Microbiologia
Apostila Aulas Praticas Bac Microbiologia
Enviado por
Ângela Ribeiro De Oliveira CarvalhoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 20
1
Departamento de Microbiologia e Imunologia
Instituto de Biocincias IBB
Curso de Nutrio Curso de Nutrio Curso de Nutrio Curso de Nutrio
Disciplina de Microbiologia Disciplina de Microbiologia Disciplina de Microbiologia Disciplina de Microbiologia
Geral de Alimentos Geral de Alimentos Geral de Alimentos Geral de Alimentos
Professores
Ary Fernandes Jnior*
Eduardo Bagagli
Joo Manuel Grisi Candeias
Josias Rodrigues
Maria de Lourdes R. S. da Cunha
Rodrigo Tavanelli Hernandes*
Sandra de Moraes Gimenes Bosco*
Vera Lcia Mores Rall
Tcnico Acadmico
Luiz Alquati
Aluno(a):____________________________________________________________
* Docentes responsveis pela disciplina
UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
JLIO DE MESQUITA FILHO
CAMPUS DE BOTUCATU
2
ndice
Cuidados a serem seguidos nas aulas prticas................................................................ 3
CICLO DE BACTERIOLOGIA
Roteiro 1 Morfologia, colorao e estrutura da clula bacteriana................................. 3
Roteiro 2 Meios de cultura e condies fsicas de cultivo bacteriano........................... 5
Roteiro 3 Ao de um fator intrnseco de alimento sobre as bactrias......................... 7
Roteiro 4 Higienizao das mos.................................................................................. 8
Roteiro 5 Efeito dos agentes fsicos e qumicos sobre as bactrias............................. 8
Roteiro 6 Escherichia coli e Salmonella spp................................................................. 9
Roteiro 7 Bacillus cereus............................................................................................... 10
Roteiro 8 Staphylococcus aureus.................................................................................. 10
CICLO DE MICOLOGIA
Roteiro 9 Aspectos macro e microscpicos de fungos.................................................. 10
Roteiro 10 Reproduo assexuada e sexuada de fungos............................................. 13
Roteiro 11 Fungos deteriorantes em alimentos............................................................. 16
Roteiro 12 Fermentao................................................................................................ 16
Roteiro 13 Deteco de fungos em alimentos............................................................... 17
3
CUIDADOS A SEREM SEGUIDOS NAS AULAS PRTICAS
1. No deixe seus pertences sobre as mesas onde os trabalhos prticos so
realizados.
2. No fume e no coma no laboratrio. Evite levar boca qualquer objeto (lpis,
rtulo, dedo, etc.).
3. No use frascos do laboratrio para tomar gua.
4. Comunique imediatamente aos instrutores qualquer acidente (derramamento de
culturas sobre a mesa ou assoalho, ferimentos de qualquer espcie, aspiraes da
cultura na boca, etc.).
5. Coloque sempre nos recipientes indicados o material contaminado.
6. Lave bem as mos com desinfetante antes de deixar o laboratrio.
7. Antes de iniciar suas atividades e depois de termin-las, limpe com desinfetante o
seu local de trabalho.
Nota: OBRIGATRIO o uso de avental durante os trabalhos
prticos. Aps o trmino das aulas prticas o avental deve
ser guardado em sacola plstica. Evite sair de avental
pelo Campus e pelas ruas da cidade.
Roteiro 1 Roteiro 1 Roteiro 1 Roteiro 1 - -- - Morfologia, colorao e estruturas da clula Morfologia, colorao e estruturas da clula Morfologia, colorao e estruturas da clula Morfologia, colorao e estruturas da clula
bacteriana bacteriana bacteriana bacteriana
1. Mtodo de Colorao de Gram
Este mtodo de colorao diferencial permite a separao das bactrias em dois
grandes grupos:
Bactrias Gram POSITIVAS que se coram de AZUL
Bactrias Gram NEGATIVAS que se coram de VERMELHO
Tcnica:
- Com o auxlio de uma ala de nquel-cromo flambada (esterilizada), colocar duas
gotas de salina na lmina limpa;
- Flambar novamente a ala e, depois de esfri-la, transferir uma parte de
crescimento bacteriano para uma lmina e misturar com a salina;
- Deixar secar;
- Fixar o esfregao, passando a lmina 3 vezes sobre a chama do bico de Bunsen;
- Deixar a lmina esfriar e cobrir o esfregao com a soluo de violeta genciana por
um minuto;
- Escorrer a violeta genciana, cobrir o esfregao com lugol e esperar mais um
minuto;
- Escorrer o lugol e descorar o esfregao pelo lcool. Para isto, deixe a lcool cair
gota a gota sobre a lmina inclinada. Considerar o esfregao suficientemente
descorado quando o lcool no retirar mais corante;
- Lavar em gua corrente;
- Cobrir o esfregao com a soluo de fucsina e esperar 30 segundos;
- Lavar a lmina em gua corrente e secar com o auxlio de um papel de filtro.
- Observar ao microscpio com a objetiva de imerso e desenhar.
4
Exerccio 1 Faa esfregaos e core-os pela tcnica de Gram.
Lmina B
Forma:________________
Gram: ________________
Lmina A
Forma:________________
Gram:_________________
Lmina C
Forma:________________
Gram: ________________
Lmina D
Forma:________________
Gram: ________________
Lmina E
Forma:________________
Gram: ________________
5
Exerccio 2 Observar lminas em preparaes especficas para visualizao de
cpsulas e esporos de bactrias. Desenhar:
Cpsulas Esporos
Roteiro Roteiro Roteiro Roteiro - -- - Meios de cultura e c Meios de cultura e c Meios de cultura e c Meios de cultura e condi!es f"sicas de ondi!es f"sicas de ondi!es f"sicas de ondi!es f"sicas de
culti#o bacteriano culti#o bacteriano culti#o bacteriano culti#o bacteriano
A) Meios de Cultura
Para o cultivo e identificao das bactrias so utilizadas solues e substncias
nutritivas, denominadas meios de cultura que podem ser classificados com base na
sua composio, quanto ao seu estado fsico e quanto capacidade seletiva e
diferencial que apresentam.
Quanto composio:
1. Meios Sintticos: quando as substncias que os compem so quimicamente
definidas e a concentrao e caractersticas de cada ingrediente so conhecidas
com exatido.
2. Meios Simples: quando constitudos somente de substncias essenciais para o
crescimento de algumas bactrias.
3. Meios Complexos: quando se adicionam ao meio simples, substncias orgnicas
complexas.
Quanto ao Estado Fsico:
1. Meios Lquidos: tambm denominados caldos.
6
2. Meios Slidos: quando se adiciona ao caldo l,5% a 2% de gar.
3. Meios Semi-slidos: quando se adiciona gar ao caldo, na concentrao igual ou
menor que 0,5%.
Quanto capacidade seletiva e diferencial:
1. Meios Enriquecidos: so meios simples adicionados de certas substncias como,
por exemplo, soro e sangue. Estes meios servem para o cultivo de bactrias que
necessitam de substratos complexos. Ex.: meios de gar sangue, e de gar
chocolate.
2. Meios Seletivos: so meios de cultura contendo substncias que impedem o
crescimento de certas bactrias, sem inibir o crescimento de outras. Ex.: Meios de
MacConkey, de Tetrationato, de Verde Brilhante.
3. Meios Diferenciais: so aqueles que contm substncias que indicam a expresso
de uma caracterstica particular de uma bactria, permitindo sua diferenciao de
outras. Exemplos: a) gar sangue. O sangue adicionado ao meio de cultura indica
se uma bactria hemoltica ou no. Nesse caso, o meio alm de enriquecido
tambm diferencial. b) gar MacConkey. A lactose adicionada ao meio,
juntamente com um indicador de pH, permite distinguir as bactrias que
fermentam esse acar das que no o fermentam.
4. Meios de Enriquecimento: so aqueles que inibem o crescimento de certas
bactrias e favorecem o crescimento de outras. Ex.: meios de tetrationato e de
selenito que permitem maior crescimento de bactrias do gnero Salmonella.
5. Alm desses, existem outros meios de cultura, como por exemplo, meios para
conservao de bactrias, meios para a contagem do nmero de bactrias, etc.
B) Condies Fsicas de Cultivo
Alm do meio de cultura, outros fatores devem ser levados em considerao para o
cultivo de bactrias, tais como:
1. pH do meio de cultura: deve ser geralmente em torno de 7.0.
2. Temperatura de crescimento: geralmente 37C
Quando a temperatura ideal de crescimento das bactrias fica entre:
10 a 20C, elas so denominadas de psicrfilas;
20 a 40C, so denominadas de mesfilas;
50 a 60C so denominadas termfilas.
Algumas bactrias apresentam temperatura ideal de crescimento superior a 60C.
Neste caso so denominadas de hipertermoflicas
3. Teor de Oxignio:
a) Bactrias aerbias estritas: so aquelas que s crescem na presena de oxignio.
b) Bactrias anaerbias estritas: crescem somente na ausncia de oxignio.
c) Bactrias anaerbias facultativas: crescem tanto na presena como na ausncia
de oxignio.
d) Bactrias microaerfilas: crescem somente em atmosfera com baixo teor de
oxignio.
7
EXERCCIOS
A) Necessidades nutritivas de algumas bactrias
Comparar a intensidade de crescimento de 3 culturas bacterianas distintas (A, B e C)
em trs meios lquidos com diferentes composies qumicas: caldo sinttico, caldo
comum e caldo glicosado. Anotar o resultado na tabela abaixo
C
r
e
s
c
i
m
e
n
t
o
em caldo Cultura
A B C
Comum
Sinttico
Glicosado
B) Dependncia do oxignio para o crescimento bacteriano.
Observar o ponto de crescimento de trs culturas bacterianas em caldo simples e
tiogel e, em funo da dependncia de O2.
Culturas Crescimento Local de crescimento no meio de tiogel
no caldo simples Superfcie Toda extenso do
Meio
Base do Meio
A
D
F
Roteiro $ Roteiro $ Roteiro $ Roteiro $ - -- - Ao de um fator intr"nseco de alimentos Ao de um fator intr"nseco de alimentos Ao de um fator intr"nseco de alimentos Ao de um fator intr"nseco de alimentos
sobre as bactrias sobre as bactrias sobre as bactrias sobre as bactrias
1. Com o auxlio da ala de nquel-cromo, passar um pouco de cultura de
Escherichia coli para uma soluo de salina esterilizada e agitar.
2. Umedecer uma zaragatoa na mistura, retirando o excesso na parede do tubo.
Passar a zaragatoa na superfcie de uma placa de gar PCA (Plate Count agar).
3. A seguir, colocar uma fatia de alho no centro da placa e Incub-la, por uma noite,
na estufa.
4. Observar halo de inibio do crescimento ao redor do alho.
8
Roteiro % Roteiro % Roteiro % Roteiro % - -- - &igieni'ao das mos &igieni'ao das mos &igieni'ao das mos &igieni'ao das mos
1. Umedea uma zaragatoa em um tubo contendo salina. Aps retirar o excesso de salina,
pressionando a zaragatoa contra a parede do tubo, esfregue-a vigorosamente no dorso
de uma das mos;
2. Passe a zaragatoa em rea correspondente metade de uma placa com gar nutriente;
3. Umedea uma segunda zaragatoa em lcool iodado a 0,1% e esfregue no dorso da
outra mo;
4. Aguarde 2 minutos para que haja ao do anti-sptico;
5. Passe ento, nessa rea, uma terceira zaragatoa umedecida, tomando cuidado para no
ultrapassar a rea higienizada. Inocule, passando a zaragatoa na superfcie da outra
metade da placa com gar nutriente;
6. Incube a placa na estufa, durante uma noite.
7. Observe a intensidade de crescimento anotando com sinal + na tabela abaixo.
Sem lcool-iodado 0,1% Com lcool-iodado 0,1%
Roteiro ( Roteiro ( Roteiro ( Roteiro ( - -- - )feito do )feito do )feito do )feito dos agentes f"sicos e *u"micos sobre s agentes f"sicos e *u"micos sobre s agentes f"sicos e *u"micos sobre s agentes f"sicos e *u"micos sobre
as bactrias as bactrias as bactrias as bactrias
A) Ao da temperatura sobre culturas bacterianas, de acordo com o tempo.
MATERIAL NECESSRIO
- Cultura A em gar inclinado.
- Tubo contendo 1 ml de soluo salina esterilizada.
- Placa de Petri contendo gar nutriente.
- Banho-maria a 60C
TCNICA
1. Transfira, com a ala de nquel-cromo, um pouco do crescimento da cultura A para
um tubo contendo 1 ml de soluo salina.
2. Agite o tubo brevemente e semeie uma alada da suspenso no quadrante
correspondente ao tempo zero, da placa de gar nutriente.
3. Coloque o tubo em banho-maria a 60C e, aos 10, 20 e 30, retire amostras da
suspenso, semeando nos respectivos quadrantes da placa de Petri.
4. Incubar a placa na estufa a 37C at o dia seguinte.
5. Observe as variaes no crescimento da cultura em cada quadrante da placa,
registrando os resultados com sinais positivos (+ a ++++), na tabela abaixo.
Intensidade de crescimento em
0 10 20 30
9
B) Ao de um produto qumico, disponvel comercialmente, sobre culturas bacterianas, de
acordo com o tempo.
MATERIAL NECESSRIO:
- Tubo contendo o produto qumico, em condies de uso, segundo recomendaes do
fabricante.
- Cultura A e B no esporuladas.
- Cultura C, esporulada
TCNICA:
1. Adicione,1,0 ml de cultura a 10 ml do produto qumico e misture bem.
2. Imediatamente e, aps 10, 20 e 30, retire amostras da mistura e inocule em
quadrantes de placas de gar nutriente.
3. Deixe a placa na estufa at o dia seguinte.
4. Observe as placas, registrando as variaes na intensidade do crescimento.
Cultura Intensidade do crescimento em
0 10 20 30
A
B
C
Roteiro + Roteiro + Roteiro + Roteiro + - -- - )sc,eric,ia coli e -almonella )sc,eric,ia coli e -almonella )sc,eric,ia coli e -almonella )sc,eric,ia coli e -almonella
Observar os meios de Cultura gar MacConkey, EPM, Mili e Citrato de Simmons, semeados
com as bactrias A e B. Aps a leitura das provas bioqumicas, relacionar os resultados e,
por comparao com a tabela, identificar qual corresponde a E. coli e a Salmonella:
Bactria Provas
Citrato Glicose Gs Urease H
2
S FDA
1
Mov.
2
LDC
3
Indol Lactose
E. coli - + + ou - - - - + ou - + ou - + +
Salmonella + ou - + + - + - + + - -
1
FDA: Fenil-alanina desaminase
2
Mov.: Movimento
3
LDC: Lisina descarboxilase
10
Roteiro . Roteiro . Roteiro . Roteiro . - -- - /acillus cereus /acillus cereus /acillus cereus /acillus cereus
1. Observar placas de gar Mossel semeadas com a cultura de Bacillus cereus e
descrever as caractersticas das colnias.
2. Corar, pelo mtodo de Gram, esfregaos das culturas C, D e E, observar ao
microscpio e desenhar
3. Prova da catalase.
Com a ala, pegar pequena quantidade do crescimento e colocar numa lmina de
vidro. Pingar algumas gotas de gua oxigenada. Verificar a reao e anotar o
resultado.
Roteiro 0 Roteiro 0 Roteiro 0 Roteiro 0 - -- - -tap,1lococcus aureus -tap,1lococcus aureus -tap,1lococcus aureus -tap,1lococcus aureus
Observar algumas caractersticas de diferenciao do gnero Staphylococcus e da espcie
S. aureus
Observar placas de gar sangue semeadas com Streptococcus e Staphylococcus
Fazer a prova da catalase
Observar um testes positivo e um negativo para a prova da coagulase
Roteiro 2 Roteiro 2 Roteiro 2 Roteiro 2 3 33 3 Aspectos macro e microsc4picos Aspectos macro e microsc4picos Aspectos macro e microsc4picos Aspectos macro e microsc4picos de fungos de fungos de fungos de fungos
A cultura de um microrganismo refere-se capacidade que este tem de
crescer em meios nutritivos artificiais. Esse crescimento evidenciado
macroscopicamente pela formao de uma unidade estrutural, denominada colnia.
As colnias de determinados fungos geralmente apresentam morfologias
tpicas, quando estes so semeados em meios com a mesma composio qumica e
submetidos s mesmas condies de incubao. Atravs dos seus aspectos macro-
estruturais de uma colnia, possvel sugerir a espcie fngica presente na cultura.
Sendo assim, o conhecimento do aspecto macro-morfolgico das colnias de
extrema utilidade para a sugesto da identificao preliminar de determinada
espcie fngica.
Na observao das caractersticas culturais de determinado fungo, pode-se
considerar alguns aspectos, resumidos abaixo, os quais podem tambm ser
encontrados no livro de SIDRIM, JJC, BRILHANTE, RSN, ROCHA, MFG. (Cap. 8 -
Aspectos Gerais de fungos filamentosos e dimrficos na apresentao
filamentosa. In: SIDRIM, JJC, ROCHA, MFG. Micologia Mdica a luz de autores
contemporneos. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2004, p. 83-86). So estes:
11
a) tamanho da colnia: pode ser bastante varivel na dependncia da quantidade e
qualidade de substrato ofertado e da espcie fngica. Por exemplo, os fungos
zigomicetos apresentam velocidade de crescimento rpido e suas colnias tendem a
ocupar toda a superfcie da placa. O mesmo ocorre com as espcies do gnero
Aspergillus quando cultivadas a 35
o
C. J o fungo Piedraia hortae apresenta
crescimento muito lento, sendo sua colnia restrita ao centro da placa de Petri.
b) bordas: na periferia das colnias fngicas podem ser observados muitos
desenhos que vo desde morfologias bem delimitadas at achados de projees
irregulares que lembram franjas. Alm disso, tambm pode ser observada, nas
bordas das colnias uma variao da colorao em relao ao centro. Esse achado
pea-chave para indicar o possvel patgeno implicado, como por exemplo, nas
colnias de Sporothrix schenckii, onde se observa que as bordas tornam-se escuras
com o envelhecimento da cultura.
c) textura: , talvez, o mais importante achado utilizado na caracterizao de uma
colnia fngica. A textura descreve a altura das hifas areas. As colnias podem ser
classificadas quanto textura em diversos tipos:
colnias algodonosas: aquelas que se assemelham com algodo,
colnias furfurceas: aquelas que lembram um punhado de substncia
farincea espalhada em uma superfcie,
colnias penugentas: aquelas nas quais se evidenciam estruturas que
lembram penas de aves dispersas na superfcie do
meio,
colnias arenosas ou pulverulentas: aquelas que lembram areia de praia,
colnias veludosas: aquelas que apresentam o aspecto de tecido
aveludado,
colnias membranosas: aquelas que so bem aderidas superfcie do meio
de cultura, recobrindo-o como uma pelcula,
colnias glabrosas: aquelas com aspecto compacto, coriceo, podendo ter
superfcie lisa ou irregular e sempre com ausncia de
filamento, ou seja, no algodonosa,
colnias cremosas: aquelas que apresentam aspecto visual cremoso, sendo
comumente observados no grupo das leveduras e da
maioria das colnias bacterianas.
d) relevo: diz respeito topografia da colnia e pode ser:
colnias cerebriformes: apresentam topografia de altos e baixos, fazendo
circunvolues que lembram as observadas no
crebro,
colnias rugosas: nada mais so do que variaes da cerebriforme, porm
as pregas topogrficas so menos evidentes, sendo
as vezes radiais partindo do centro da colnia,
colnias apiculadas: caracterizam-se pela presena de uma salincia na
parte central lembrando um pequeno cume,
colnias crateriformes: so aquelas que se aprofundam no meio de cultura,
assumindo o aspecto de cratera.
e) pigmentao: quando se fala em pigmentao de uma colnia fngica deve-se
levar em considerao alguns aspectos primrios:
- se o pigmento encontrado na superfcie da colnia ou no reverso,
12
- se o pigmento encontrado tanto na superfcie quanto no reverso da
colnia,
- se o pigmento ou no difusvel no meio de cultura,
- se o pigmento est presaente apenas nos esporos e ausente nas hifas,
como observado na maioria das espcies de Aspergillus e Penicillium, ou em ambos
(hifa e esporos), como observado nas espcies de fungos causadores de
cromoblastomicose (Ex. Fonsecae pedrosoi).
Observa-se uma grande variedade de cores na pigmentao fngica que
passam pelos tons de verde, amarelo, vermelho e castanho at ao preto.
Importante ressaltar que esta caracterizao fenotpica da colnia visando a
auxiliar na identificao de determinada espcie fngica apresenta algumas
limitaes, principalmente devido ocorrncia de variaes destas caractersticas
dentro de uma mesma espcie, devido tanto a efeito ambiental, como tambm da
subjetividade do observador. Dessa forma, deve-se sempre ter em mente que,
embora a colnia fngica possa sugerir, indicar e muitas vezes at acertar o
caminho da identificao, no se deve, contudo, considera-la como nica ou
principal forma de identificao fngica. Quando empregada como nico critrio
pode levar a diagnsticos pouco precisos ou errneos.
Os aspectos microscpicos so observados em materiais fngicos
(fragmentos de cultura, esfregaos, raspados, etc) sobre lmina, com ou sem
lamnula e colorao. As lminas so inicialmente observadas no menor aumento e
a seguir nos aumentos maiores, sem necessariamente empregar a objetiva de
imerso.
ASPECTOS MACROSCPICOS DAS CULTURAS DE FUNGOS
a) finalidade: auxiliar na identificao das colnias fngicas
b) fundamento: Os estudos macroscpicos devem ser baseados nas seguintes
caractersticas: tamanho, bordas, textura, relevo (na frente e verso da colnia) e
pigmentao
Exemplo:
5rente 5rente 5rente 5rente6 66 6 c cc col7nia de fungo ol7nia de fungo ol7nia de fungo ol7nia de fungo 85 85 85 85ilamentoso ilamentoso ilamentoso ilamentoso ou 9 ou 9 ou 9 ou 9e#eduriforme e#eduriforme e#eduriforme e#eduriforme: :: :, de , de , de , de te;tura te;tura te;tura te;tura
8algodonos 8algodonos 8algodonos 8algodonosa aa a, a#eludad , a#eludad , a#eludad , a#eludada aa a, pul#erulent , pul#erulent , pul#erulent , pul#erulenta aa a, glabr , glabr , glabr , glabra aa a, cremos , cremos , cremos , cremosa aa a, etc: , etc: , etc: , etc:, , , , de rele#o de rele#o de rele#o de rele#o
8cerebriform 8cerebriform 8cerebriform 8cerebriforme, rugoso, crateriforme, apiculado e, rugoso, crateriforme, apiculado e, rugoso, crateriforme, apiculado e, rugoso, crateriforme, apiculado, liso , liso , liso , liso: :: : de colorao de colorao de colorao de colorao 8<<<: 8<<<: 8<<<: 8<<<:, com , com , com , com
bordos bordos bordos bordos 8regulares ou irregulares: 8regulares ou irregulares: 8regulares ou irregulares: 8regulares ou irregulares:< < < <
=erso6 =erso6 =erso6 =erso6 8 88 8presena ou aus>ncias: presena ou aus>ncias: presena ou aus>ncias: presena ou aus>ncias: de fendas ou dobras, de fendas ou dobras, de fendas ou dobras, de fendas ou dobras, e e e e 8aus>ncia ou presena: 8aus>ncia ou presena: 8aus>ncia ou presena: 8aus>ncia ou presena:
de pigmento difus"#el no meio de cultura< de pigmento difus"#el no meio de cultura< de pigmento difus"#el no meio de cultura< de pigmento difus"#el no meio de cultura<
Exerccio 1 - Descrever as caractersticas coloniais das culturas de
Aspergillus sp. e Sacharomyces sp., conforme o modelo que segue, e
desenhar as caractersticas microscpicas dos mesmos fungos no espao
abaixo.
13
Aspergillus sp.
Saccharomyces cereviseae
Roteiro 1? Roteiro 1? Roteiro 1? Roteiro 1? 3 33 3 Reproduo asse;uada e se;uada de Reproduo asse;uada e se;uada de Reproduo asse;uada e se;uada de Reproduo asse;uada e se;uada de
fungos fungos fungos fungos
1) Em relao aos fungos zigomicetos apresentados a seguir solicita-se:
- tipo de reproduo apresentada: assexuada ou sexuada
- nome das estruturas apontadas
- observar a lmina no microscpio e desenhar as estruturas observadas
14
Mucor spp.
reproduo: ( ) assexuada ( ) sexuada
estrutura 1: ________________________
estrutura 2: ________________________
Rhizopus spp.
reproduo: ( ) assexuada ( ) sexuada
estrutura 1: ________________________
estrutura 2: ________________________
estrutura 3: _________________________
15
Pilobollus crystallinus nas fezes de cavalo
reproduo: ( ) assexuada ( ) sexuada
estrutura 1: ________________________
estrutura 2: ________________________
estrutura 3: _________________________
Qual a relao deste fungo com a luz?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Como esse fungo elimina seus esporos no ambiente?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2) Preparar lmina das lamelas de cogumelos para observao de basdios e
basidisporos. Desenhe no local abaixo as estruturas observadas.
16
Roteiro 1 Roteiro 1 Roteiro 1 Roteiro 11 11 1 3 33 3 5ungos deteriorantes em alimentos 5ungos deteriorantes em alimentos 5ungos deteriorantes em alimentos 5ungos deteriorantes em alimentos
FINALIDADE:
- observar as caractersticas macroscpicas dos fungos que esto deteriorando os
alimentos,
- observar o efeito dessa deteriorao provocado no alimento,
- observar as estruturas microscpicas dos fungos envolvidos no processo de
deteriorao.
Procedimento:
Com auxlio de fita adesiva (Durex), encostar levemente na superfcie da cultura
fngica sobre o alimento e depois transferir essa fita para uma lmina contendo uma
gota de lactofenol azul-algodo. Observar as caractersticas microscpicas dos
fungos. Desenhar as estruturas observadas.
Roteiro 1 Roteiro 1 Roteiro 1 Roteiro 1 3 33 3 5ermentao 5ermentao 5ermentao 5ermentao
FINALIDADE:
- observar a produo de CO
2
a partir da fermentao da glicose realizada por
Saccharomyces cereviseae.
Procedimento:
Em uma garrafa PET adicionar caldo de cana e a levedura S. cereviseae. Fechar a
garrafa com uma bexiga. Observar a produo de CO
2
pelo enchimento da bexiga.
17
Roteiro 1 Roteiro 1 Roteiro 1 Roteiro 1$ $$ $ - -- - Deteco de fungos em alimentos Deteco de fungos em alimentos Deteco de fungos em alimentos Deteco de fungos em alimentos
FINALIDADE: avaliar a carga fngica presente nos diferentes tipos de alimentos.
Alimentos avaliados: granola, paoca, farinha de milho, farinha de mandioca e leite
Procedimento:
- pesar 10 gramas do alimento (leite= pipetar volume de 10 mL) e colocar em frasco
contendo 90 mL de soluo salina estril (diluio 1:10 10
-1
). A partir da diluio
1:10, coletar, com auxlio de pipeta sorolgica estril, um volume de 1,0 mL e
transferir para tubo de ensaio contendo 9,0 mL de soluo salina estril (diluio
1:100 10
-2
). A partir da diluio 1:100, coletar um volume de 1,0 mL e transferir
para outro tubo contendo 9,0 mL de soluo salina estril (diluio 1:1000 10
-3
).
Homogeneizar bem em cada diluio e desprezar os 1,0 mL restantes, conforme
esquema ilustrado a seguir:
Transferir 1,0 mL de cada diluio e cultivar pour-plate com agar Sabouraud,
Mycosel e DRBC fundidos. Para a amostra de leite utilizar tambm o meio
CHROMagar Candida. Homogeneizar bem, esperar solidificar, identificar as placas e
incubar a 25
o
C. Observar o comportamento do crescimento fngico nos diferentes
meios de cultura.
A interpretao dos resultados ser realizada na
prxima aula prtica.
18
Interpretao dos resultados
Proceder a contagem das colnias de fungos e anote nos quadros abaixo. Fazer a
estimativa do nmero de UFC (Unidades Formadoras de Colnias) por grama e/ou
mL de alimento.
Grupo 1: granola
Agar SAB
1:10 1:100 1:1000
Agar Mycosel
1:10 1:100 1:1000
Agar DRBC
1:10 1:100 1:1000
Grupo 2: paoca
Agar SAB
1:10 1:100 1:1000
Agar Mycosel
1:10 1:100 1:1000
Agar DRBC
1:10 1:100 1:1000
19
Grupo 3: farinha de milho
Agar SAB
1:10 1:100 1:1000
Agar Mycosel
1:10 1:100 1:1000
Agar DRBC
1:10 1:100 1:1000
Grupo 4: farinha de mandioca
Agar SAB
1:10 1:100 1:1000
Agar Mycosel
1:10 1:100 1:1000
Agar DRBC
1:10 1:100 1:1000
20
Grupo 5: leite
Agar SAB
1:10 1:100 1:1000
Agar Mycosel
1:10 1:100 1:1000
Agar DRBC
1:10 1:100 1:1000
Chromagar Candida
1:10 1:100 1:1000
=oc> @A agradeceu a um fungo ,o@eBC =oc> @A agradeceu a um fungo ,o@eBC =oc> @A agradeceu a um fungo ,o@eBC =oc> @A agradeceu a um fungo ,o@eBC
Você também pode gostar
- Aula 4. SLIDE Microbiota Normal Do Corpo HumanoDocumento30 páginasAula 4. SLIDE Microbiota Normal Do Corpo HumanoLaura Muller100% (1)
- Montagem de Esqueleto de Um OvinoDocumento13 páginasMontagem de Esqueleto de Um OvinoAndréia Freitas100% (1)
- Antibiograma Passo A PassoDocumento3 páginasAntibiograma Passo A PassoGustavo Pawlowski100% (1)
- Aula 2 Aprendizagem Animal 1Documento27 páginasAula 2 Aprendizagem Animal 1Andréia FreitasAinda não há avaliações
- VeadoDocumento36 páginasVeadoAndréia FreitasAinda não há avaliações
- SBFis 2013 ANAIS Pág 58Documento257 páginasSBFis 2013 ANAIS Pág 58Andréia FreitasAinda não há avaliações
- Comportamento Do AvestrusDocumento13 páginasComportamento Do AvestrusAndréia FreitasAinda não há avaliações
- Comportamento de SerpentesDocumento34 páginasComportamento de SerpentesAndréia FreitasAinda não há avaliações
- Caderno Tecnico 77 Inspecao Produtos Origem AnimalDocumento142 páginasCaderno Tecnico 77 Inspecao Produtos Origem AnimalKarine SouzaAinda não há avaliações
- Homeostasia Celular PotenciaisDocumento16 páginasHomeostasia Celular PotenciaisAndréia FreitasAinda não há avaliações
- Administracao RuralDocumento34 páginasAdministracao RuralAndréia FreitasAinda não há avaliações
- Microbiologia Dos AlimentosDocumento104 páginasMicrobiologia Dos Alimentosquel04Ainda não há avaliações
- BRUCELOSEDocumento7 páginasBRUCELOSEEduarda SinhorotoAinda não há avaliações
- Angola PDF Angola Hiv Epidemic in Angola-1Documento6 páginasAngola PDF Angola Hiv Epidemic in Angola-1D'ZandroMarcosAinda não há avaliações
- 3 ISTsDocumento22 páginas3 ISTsGilberto NettoAinda não há avaliações
- Sofia Teles 2022 RemissoEspontneanaPapilomatoseRespiratriaJuvenil-3A4DDocumento1 páginaSofia Teles 2022 RemissoEspontneanaPapilomatoseRespiratriaJuvenil-3A4DHelena Sofia Fonseca Paiva De Sousa TelesAinda não há avaliações
- Manipulacao de Alimentos Na Elaboracao Do PCMSO e Na Pratica OcupacionalDocumento40 páginasManipulacao de Alimentos Na Elaboracao Do PCMSO e Na Pratica OcupacionalrenataxviAinda não há avaliações
- Avaliação 5 ParasitologiaDocumento8 páginasAvaliação 5 ParasitologiaMaritania AlmeidaAinda não há avaliações
- TEMA 2 - Diagnóstico Laboratorial IDocumento77 páginasTEMA 2 - Diagnóstico Laboratorial IMaryB.HbrandtAinda não há avaliações
- Avaliação Final (Objetiva) - Individual Relações Microrganismos e HospedeirosDocumento5 páginasAvaliação Final (Objetiva) - Individual Relações Microrganismos e HospedeirosEliezer LimaAinda não há avaliações
- QUESTÕES VACINAS AtualizadasDocumento12 páginasQUESTÕES VACINAS AtualizadasRoberta Souza De BarrosAinda não há avaliações
- Parasitologia Josimar EbookDocumento76 páginasParasitologia Josimar EbookAluno - Polyana Aparecida BisinotoAinda não há avaliações
- Biologia: Classificação Dos Seres VivosDocumento11 páginasBiologia: Classificação Dos Seres VivosnubinhoAinda não há avaliações
- F Expressoes Numericas PDFDocumento2 páginasF Expressoes Numericas PDFRenata RamalhoAinda não há avaliações
- Tratamento Da Gonorreia PDFDocumento23 páginasTratamento Da Gonorreia PDFAdalberto BatistaAinda não há avaliações
- Doenças Prevenidas Por VacinasDocumento5 páginasDoenças Prevenidas Por VacinasAleia LealAinda não há avaliações
- Resumão AV2 - Parasitologia PDFDocumento3 páginasResumão AV2 - Parasitologia PDFMaria Mariana OliveiraAinda não há avaliações
- VulvovaginitesDocumento17 páginasVulvovaginitesLUDIMILA DE OLIVEIRAAinda não há avaliações
- BactériasDocumento64 páginasBactériasJacqueline AlexandrinoAinda não há avaliações
- Doenças Transmissíveis Relacionadas A Higiene Individual e ColetivaDocumento15 páginasDoenças Transmissíveis Relacionadas A Higiene Individual e ColetivaAna Paula Souza da SilvaAinda não há avaliações
- Complexo Teníase CisticercoseDocumento10 páginasComplexo Teníase CisticercoseCarolina MonteiroAinda não há avaliações
- Breve História Da Era BacteriológicaDocumento6 páginasBreve História Da Era BacteriológicaLarissa SantosAinda não há avaliações
- Sífilis Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente TransmissíveisDocumento1 páginaSífilis Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente TransmissíveisVitória NandesAinda não há avaliações
- Esquistossomose e Hepatites ViraisDocumento10 páginasEsquistossomose e Hepatites ViraisJackellyne Geórgia LeiteAinda não há avaliações
- Infeções NosocomiasDocumento52 páginasInfeções Nosocomiaspedro947567665Ainda não há avaliações
- Programa Nacional de ImunizaçãoDocumento17 páginasPrograma Nacional de Imunizaçãogkbsantos100% (1)
- Calendario Vacinal - Adulto - 19 - 10Documento1 páginaCalendario Vacinal - Adulto - 19 - 10Eliete CeriacaAinda não há avaliações
- Método de Coloração de GramDocumento1 páginaMétodo de Coloração de GramAilton Gambaroto PastroAinda não há avaliações
- Exercícios de BacteriologiaDocumento5 páginasExercícios de BacteriologiaCamilaBio28Ainda não há avaliações