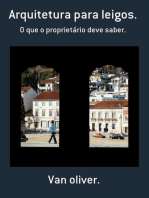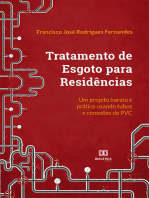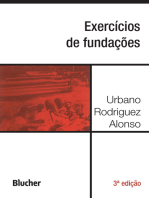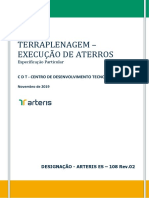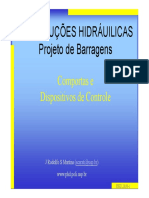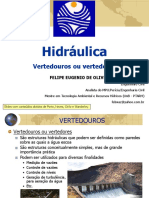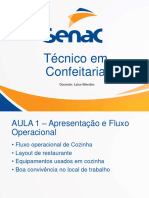Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Infliencia Da Adição de Fibras de Polipropileno em Pisos
Infliencia Da Adição de Fibras de Polipropileno em Pisos
Enviado por
Ingrid DjandroTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Infliencia Da Adição de Fibras de Polipropileno em Pisos
Infliencia Da Adição de Fibras de Polipropileno em Pisos
Enviado por
Ingrid DjandroDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Instituto Brasileiro do Concreto - 44 Congresso Brasileiro
44 Congresso Brasileiro do Concreto 1
A Influncia da Adio de Fibras de Polipropileno nas Propriedades dos
Concretos para Pisos e Pavimentos
Eng Msc. Pblio Penna Firme Rodrigues; Eng Msc. Julio P. Montardo
(1) Diretor da LPE Engenharia e Consultoria
email: publio@uol.com.br
(2) Gerente de desenvolvimento de produtos e mercado da Fitesa
email: juliom@fitesa.com.br
Endereo para correspondncia: Av. Ver. Jos Diniz 3720 C. 1305 SP(SP) 04604-007
Palavras Chaves: concreto fresco, fibras, retrao plstica, pisos industriais, pavimentos rgidos.
Resumo
Este trabalho pretende abordar a influncia da adio de fibras sintticas nas primeiras
idades em concretos empregados na confeco de pisos industriais e pavimentos
rgidos, procurando mostrar as diferenas que tm ocorrido nesses materiais nas ltimas
dcadas e a influncia que essas mudanas afetam o seu comportamento, basicamente
no estado fresco e nas primeiras idades.
Apresenta de modo resumido alguns resultados de pesquisas desenvolvidas no exterior,
bem como pretende apresentar alguns resultados de aplicaes prticas conduzidas no
Brasil.
Instituto Brasileiro do Concreto - 44 Congresso Brasileiro
44 Congresso Brasileiro do Concreto 2
1. Introduo
O objetivo deste trabalho apresentar os benefcios da adio das fibras de polipropileno
nos concretos empregados na execuo de pisos industriais e pavimentos rgidos.
Este trabalho ir abordar aspectos importantes da reologia do concreto fresco e
variaes volumtricas do concreto nas primeiras idades, que so fundamentais para o
desempenho futuro e durabilidade dos pisos e pavimentos.
No incio da introduo das fibras plsticas em geral no Brasil, ocorreram alguns
equvocos graves com relao sua utilizao, pois acreditava-se que, com a sua
incluso, poderamos dispensar outros tipos de reforos, como as telas soldadas ou
fibras metlicas, sem que houvesse problemas no combate e controle da retrao
hidrulica, o que levou a ocorrncia de inmeros insucessos em obras importantes.
Esse mau emprego e desconhecimento tcnico por parte de alguns especificadores
acabaram por colocar as fibras plsticas numa situao delicada e indevida, pois o que
de fato ocorreu que se esperava dela desempenhos diferentes do que ela poderia
proporcionar.
Passado o choque inicial, pouco a pouco as fibras plsticas voltam a ocupar o papel
delas no incremento de importantes propriedades no concreto fresco e tm-se
encontrado outras propriedades inusitadas, como o seu poder de melhorar a resistncia
do concreto a temperaturas elevadas.
Particularmente esse tpico est alm das pretenses deste trabalho, mas apenas para
conhecimento geral do leitor, as fibras de polipropileno empregadas em dosagens
adequadas, bem mais elevadas que a usual, fundem-se em temperaturas superiores a
100C e criam no concreto uma rede de tneis que permitem a sada do vapor dgua
sem que ocorra o desplacamento do concreto, que o primeiro estgio de sua
deteriorao sob ao do fogo.
A tecnologia do emprego de fibras plsticas de polipropileno como elementos de reforo
no concreto vem experimentando significativo crescimento de demanda nos ltimos anos
e essas tm experimentado nos ltimos 2 ou 3 anos, no Brasil, um aumento significativo
de uso. Atualmente possvel relatar obras diversas que tiveram de alguma forma a
incorporao de fibras de polipropileno: barragens, tneis, pontes, canais de irrigao,
estaes de tratamento de guas e esgoto e, principalmente, em pavimentos e pisos de
concreto.
Vrios so os motivos que explicam esta realidade. No plano tcnico, pode-se citar a
compatibilidade mecnica, fsica e qumica existente entre o concreto e as fibras de
polipropileno. O polipropileno quimicamente inerte, no absorve gua, imputrescvel e
no enferruja. A mistura destes materiais se enquadra perfeitamente no conceito de
compsitos fibrosos.
No plano econmico, o aumento do uso de fibra se justifica pelo baixo custo e fcil
disponibilidade. A resina de polipropileno mais barata que outros polmeros, alm disso,
o processo de fabricao do fio de polipropileno tambm mais barato. Soma-se a isto o
fato de que o seu manuseio, tanto na fbrica como na obra, no oferece qualquer dano a
sade dos operrios.
Este trabalho discute alguns conceitos bsicos referentes ao tema, correlacionando-os
com conceitos com a engenharia de pisos e pavimentos de concreto.
Neste trabalho no h, por parte dos autores, a pretenso de esgotar o assunto, mas sim
apresentar o estgio atual da utilizao das fibras de polipropileno e propor novos
estudos para a sua otimizao.
2. O Cimento Ontem e Hoje
Instituto Brasileiro do Concreto - 44 Congresso Brasileiro
44 Congresso Brasileiro do Concreto 3
Pretendemos neste item discorrer algumas caractersticas importantes do cimento no
passado (no muito distante) e hoje, sem pretenses histricas e preocupao com
datas.
No final da dcada de 70 do sculo passado, o cimento no Brasil era produzido por
processos mais antiquados e muitas indstrias ainda empregavam sistemas de moagem
em circuitos abertos, aqueles em que a mistura de clinquer e gesso entrava por uma
extremidade do moinho e saia pela outra onde havia simplesmente uma peneira para
reter partculas mais grossas ou mesmo as bolas de ao que formavam os corpos
moedores.
J existiam algumas indstrias com sistemas de moagem mais complexos e eficientes,
conhecidos como circuito fechado, que terminavam em ciclones onde o material mais
grosso voltava para o incio do processo e o mais fino seguir para um silo de produtos
acabados, mas, naquela poca, no formavam a maioria dos sistemas de moagem.
Como conseqncia, tnhamos que os cimentos produzidos eram mais grossos, com
velocidade de endurecimento mais lenta e menor demanda de gua e, como veremos
adiante, menor retrao autgena.
Para as estruturas convencionais esses cimentos poderiam causar certo desconforto
pela demora na liberao de cimbramentos, gerando velocidades construtivas menores
que as atuais, mas que para pisos, passava ser uma caracterstica irrelevante.
Como ponto positivo, a menor demanda de gua proporcionava valores de retrao
hidrulica bem inferiores aos obtidos com cimentos mais finos, sendo comum naquela
poca no recomendar o cimento ARI - alta resistncia inicial, para pavimentos por
apresentarem elevada retrao hidrulica
1
(Correia, 1979). Para efeitos comparativos,
grosso modo, o cimento portland comum tinha finura Blaine
2
variando de 260 a 300m/kg
enquanto que o ARI de 360 a 400m/kg; para o cimento comum, no eram raros os com
finura na peneira 200 (0,075m) prximo a 12%, que era o limite normativo.
Atualmente, a moagem em circuito fechado representa a totalidade dos sistemas
implantados nas industrias nacionais e no raro o sistema de moagem separado,
aquele no qual as adies que apresentam dureza distinta do clinquer so modas
separadas e o cimento composto posteriormente dosado e homogeneizado em silos
especficos a esse fim.
Hoje em dia a finura Blaine dos cimentos nacionais quase sempre ultrapassam a
400m/kg trazendo como vantagem um rpido incremento das resistncias mecnicas
mais como desvantagem, uma retrao hidrulica seguramente mais elevada do que
antes era observado, mesmo cm a difuso do uso dos aditivos plastificantes
convencionais, hoje bastante difundidas. Hoje, o cimento ARI, antes banido na execuo
de pisos, o preferido!
Quanto aos tipos de cimento produzidos, vemos que h uma mudana significativa, pois
em 1980 eram produzidos apenas quatro tipos de cimento:
Cimento portland comum (CPC), produzido pela moagem conjunta de clinquer e
gesso;
Cimento portland de alta resistncia inicial (ARI) que proporcionava elevadas
resistncias s primeiras idades;
Cimento portland de alto forno (AF), que continha adio de escria de alto
forno;
Cimento pozolnico (POZ) que era composto por clinquer, gesso, e pozolana,
normalmente cinzas volantes de termo eltricas, muito difundido nos estados do
Sul.
1
Admitia-se que a finura mais elevada causava maior demanda de gua
2
O ensaio de finura Blaine mede a rea especfica das superficies dos gros.
Instituto Brasileiro do Concreto - 44 Congresso Brasileiro
44 Congresso Brasileiro do Concreto 4
Atualmente a indstria cimenteira oferece pelo menos oito tipos diferentes de cimento,
que podem ser resumidos em (ABCP, 1994):
CPI: equivalente ao antigo cimento portland comum, praticamente um cimento
especial;
CPII-F, CPII-E, CPII-Z: cimentos portland com adies de filer calcrio, escria
de alto forno e pozolana respectivamente;
CPIII: equivale ao antigo cimento de alto forno e no apropriado na execuo
de pisos industriais, pois facilita a ocorrncia de delaminao
3
;
CPIV: equivale ao antigo cimento pozolnico, tambm problemtico em pisos;
CPV e CPV-RS: so os cimentos de alta resistncia inicial, sendo este ltimo
adicionado de escria de alto forno, que lhe transmite caractersticas resistente
aos sulfatos.
Embora o avano da indstria cimenteira tenha trazido inmeros benefcios ao
consumidor, como os cimentos resistentes aos sulfatos, os com maiores velocidades de
endurecimento, etc, os cimentos modernos apresentam caractersticas que podem trazer
maior quantidade de problemas na execuo de pisos e pavimentos, como o incremento
nas retraes plstica e hidrulica esta tanto nas primeiras idades como nas finais e
a menor capacidade frente s deformaes restringidas, devido menor capacidade de
relaxao.
Soma-se a isso as profundas alteraes sofridas pelos agregados nas ltimas dcadas,
notadamente os midos, cujas restries extrao da areia de rio e a distncia dessas
fontes dos centros consumidores o que levou a necessidade do emprego de areias
artificiais, mais angulosas, que produzem misturas menos trabalhveis e teremos as
marcantes mudanas nos concretos hoje disponveis.
Cabe aos tcnicos buscar as alternativas disponveis para modificar as caractersticas
negativas citadas, permitindo a execuo de pisos e pavimentos durveis.
3. MATERIAS COMPSITOS
Atualmente um grande nmero de materiais tem sido desenvolvido, geralmente baseados
em materiais tradicionais, mas incorporando de alguma forma elementos de reforo.
Estes novos materiais so denominados compsitos.
Um material compsito a combinao de dois ou mais materiais que tem propriedades
que os materiais componentes isoladamente no apresentam. Eles so, portanto,
constitudos de duas fases: a matriz e o elemento de reforo e so desenvolvidos para
otimizar os pontos fortes de cada uma das fases (Budinski, 1996).
Ainda segundo Budinski (1996) os materiais compsitos mais importantes so
combinaes de polmeros e materiais cermicos. Sob a tica da cincia dos materiais,
os produtos baseados em cimento Portland so considerados como materiais cermicos
por apresentarem caractersticas tpicas a este grupo de materiais, como, por exemplo,
alta rigidez, fragilidade, baixa resistncia trao e tendncia de fissurao por
secagem.
Os polmeros so caracterizados por terem baixo mdulo de elasticidade, ductilidade
varivel e resistncia trao moderada. So extremamente versteis e, dentro de
certos limites, podem ser modificados para adaptar-se segundo necessidades
especficas (Taylor, 1994).
As cermicas e os polmeros podem ser considerados como grupos opostos de
materiais, uma vez que as primeiras so mais rgidas e frgeis e os segundos menos
rgidos e dcteis (Taylor, 1994).
3
A delaminao o desplacamento de uma fina camada de argamassa, que forma a superfcie acabada do piso;
geralmente causada pela gua de exsudao que ainda ocorre aps o alisamento superficial do piso.
Instituto Brasileiro do Concreto - 44 Congresso Brasileiro
44 Congresso Brasileiro do Concreto 5
Os materiais compsitos, originados da combinao das cermicas e dos polmeros,
apresentam caractersticas mais apropriadas de resistncia mecnica, rigidez,
ductilidade, fragilidade, capacidade de absoro de energia de deformao e
comportamento ps-fissurao, quando comparados com os materiais que lhes deram
origem.
Em todas as reas do conhecimento um grande nmero de novos materiais pode ser
desenvolvido a partir da combinao de outros. Para tanto, necessrio que se conhea
as propriedades mecnicas, fsicas e qumicas dos materiais de constituio e como eles
podem ser combinados.
Budinski (1996) acredita que ns conhecemos bastante sobre os porqus que as coisas
acontecem e como fazer uma ampla variedade de materiais de engenharia. No entanto o
desenvolvimento de futuros materiais depender de novos conhecimentos de qumica e
de estrutura atmica. Ns provavelmente no encontraremos nenhum outro elemento
qumico estvel; portanto deveremos ser mais criativos com o que temos.
3.1 MATERIAS COMPSITOS FIBROSOS
A histria da utilizao de compsitos reforados com fibras como materiais de
construo tm mais de 3000 anos. H exemplos do uso de palhas em tijolos de argila,
mencionados no xodo, e crina de cavalo reforando materiais cimentados. Outras fibras
naturais tem sido utilizadas para conferir ductilidade aos materiais de construo
essencialmente frgeis (Illston,1994).
Contrastando com estes antigos materiais naturais, o desenvolvimento de polmeros nos
ltimos 100 anos foi impulsionado pelo crescimento da indstria do petrleo. Desde 1930
o petrleo tem sido a principal fonte de matria prima para a fabricao de produtos
qumicos orgnicos, a partir dos quais so fabricados plsticos, fibras, borrachas e
adesivos (Illston,1994).
Uma grande quantidade de polmeros, com variadas propriedades e formas, tem sido
desenvolvidos desde 1955. Para Taylor (1994) os materiais baseados em cimento
Portland so uma opo natural para a aplicao de materiais fibrosos a base de fibras
polimricas, uma vez que so baratos, mas apresentam problemas relativos a
ductilidade, resistncia ao impacto e capacidade de absoro de energia de deformao.
Segundo Johnston (1994), as fibras em uma matriz cimentada podem, em geral, ter dois
efeitos importantes. Primeiro, elas tendem a reforar o compsito sobre todos os modos
de carregamento que induzem tenses de trao, isto , retrao restringida, trao
direta ou na flexo e cisalhamento e, secundariamente, elas melhoram a ductilidade e a
tenacidade de uma matriz frgil.
O desempenho dos compsitos reforados com fibras controlado principalmente pelo
teor e pelo comprimento da fibra, pelas propriedades fsicas da fibra e da matriz e pela
aderncia entre as duas fases (Hannant, 1994).
Johnston (1994) acrescenta o efeito da orientao e distribuio da fibra na matriz. A
orientao de uma fibra relativa ao plano de ruptura, ou fissura, influencia fortemente a
sua habilidade em transmitir cargas. Uma fibra que se posiciona paralela ao plano de
ruptura no tem efeito, enquanto que uma perpendicular tem efeito mximo.
Taylor (1994) apresenta os principais parmetros relacionados com o desempenho dos
materiais compsitos cimentados, assumindo que as variaes das propriedades
descritas abaixo so atingidas independentemente:
a) Teor de fibra. Um alto teor de fibras confere maior resistncia ps-fissurao e menor
dimenso das fissuras, desde que as fibras possam absorver as cargas adicionais
causadas pela fissura;
Instituto Brasileiro do Concreto - 44 Congresso Brasileiro
44 Congresso Brasileiro do Concreto 6
b) Mdulo de elasticidade da fibra. Um alto valor do mdulo de elasticidade causaria um
efeito similar ao teor de fibra, mas, na prtica, quanto maior o mdulo maior a
probabilidade de haver o arrancamento das fibras;
c) Aderncia entre a fibra e a matriz. As caractersticas de resistncia, deformao e
padres de ruptura de uma grande variedade de compsitos cimentados reforados
com fibras dependem fundamentalmente da aderncia fibra/matriz. Uma alta
aderncia entre a fibra e a matriz reduz o tamanho das fissuras e amplia sua
distribuio pelo compsito.
d) Resistncia da fibra. Aumentando a resistncia das fibras aumenta tambm a
ductilidade do compsito, assumindo que no ocorre o rompimento das ligaes de
aderncia. A resistncia da fibra depender, na prtica, das caractersticas ps-
fissurao desejadas, bem como do teor de fibra e das propriedades de aderncia
fibra-matriz;
e) Deformabilidade da fibra: a ductilidade pode ser aumentada com a utilizao de fibras
que apresentem alta deformao de ruptura. Isto se deve pelo fato de compsitos
com fibras de elevado grau de deformabilidade consumirem energia sob a forma de
alongamento da fibra;
f) Compatibilidade entre a fibra e a matriz: a compatibilidade qumica e fsica entre as
fibras e a matriz muito importante. A curto prazo, as fibras que absorvem gua
podem causar excessiva perda de trabalhabilidade do concreto. Alm disso, as fibras
que absorvem gua sofrem variao de volume e a aderncia fibra/matriz
comprometida. A longo prazo, alguns tipos de fibras polimricas no possuem
estabilidade qumica frente a presena de lcalis, como ocorre nos materiais a base
de cimento Portland. Nestes casos, a deteriorao com rpida perda das
propriedades da fibra e do compsito pode ser significativa.
g) Comprimento da fibra. Quanto menor for o comprimento das fibras, maior ser a
possibilidade delas serem arrancadas. Para uma dada tenso de cisalhamento
superficial aplicada fibra, esta ser melhor utilizada se o seu comprimento for
suficientemente capaz de permitir que a tenso cisalhante desenvolva uma tenso de
trao igual a sua resistncia trao.
Na verdade no basta raciocinar to somente em cima do comprimento da fibra. H
de se levar em conta o seu dimetro. Pois depende tambm dele a capacidade da
fibra desenvolver as resistncias ao cisalhamento e trao. A Figura 3.1 apresenta
uma disposio idealizada da fibra em relao fissura, seguido de um
equacionamento onde fica evidente a importncia da relao l/d, onde l o
comprimento e d o dimetro da fibra (figura 3.1).
A relao l/d proporcional ao quociente entre a resistncia trao da fibra e a
resistncia de aderncia fibra/matriz, na ruptura. Em grande parte, a tecnologia dos
materiais compsitos depende desta simples equao: se a fibra tem uma alta
resistncia trao, por exemplo, como o ao, ento ou a resistncia de aderncia
necessria dever ser alta para impedir o arrancamento antes que a resistncia
trao seja totalmente mobilizada ou fibras de alta relao l/d devero ser utilizadas
(Taylor, 1994).
Instituto Brasileiro do Concreto - 44 Congresso Brasileiro
44 Congresso Brasileiro do Concreto 7
.
d
f d
l
f
t a
2
4 2
=
l
d
f
f
t
a
=
2
(2.1)
Figura 3.1: Disposio Fibra/Fissura Idealizada
4. Os Pisos Industriais Evoluo e Caractersticas
Os pisos industriais no Brasil praticamente no evoluram at o incio dos anos 80
quando era empregado o sistema denominado mido-sobre-seco, como mostra a figura
4.1(a); nesse sistema, o piso estrutural era executado sem maiores preocupaes com o
acabamento superficial ou de nivelamento, pois sobre ele era colocada uma argamassa
de nivelamento que receberia outra camada de argamassa de alta resistncia mecnica,
cuja funo era resistir aos esforos abrasivos impostos ao piso (Rodrigues et al, 1985).
Esse sistema era muito limitado, pois a sua durabilidade estava fortemente associada
qualidade da argamassa de consistncia seca interposta entre a laje estrutural e o
revestimento, alm do excessivo nmero de juntas, formado por quadros de 2x2m a
3x3m. Como evoluo desse sistema, surgiu o denominado mido-sobre-mido,
apresentado na figura 4.1(b).
Figura 4.1:Pisos com argamassa de alta resistncia
Este sistema eliminava a indesejvel camada de argamassa intermediria, j que a
argamassa de alta resistncia era aplicada diretamente sobre o concreto fresco,
permitindo uma reduo na quantidade de juntas, havendo a necessidade de
acompanhar apenas as do prprio piso. Infelizmente, os produtores de argamassa
impuseram limitaes severas ao comprimento das placas, ao nosso ver sem nenhum
fundamento cientfico, criando uma quantidade de juntas desnecessria frente s novas
tecnologias que se apresentavam, inicialmente com os pisos armados com telas eletro
Instituto Brasileiro do Concreto - 44 Congresso Brasileiro
44 Congresso Brasileiro do Concreto 8
soldadas e posteriormente os reforados com fibras de ao, que permitiram uma reduo
substancial e oportuna da quantidade de juntas. Adicionalmente era prtica comum o
emprego de juntas rgidas, formadas por perfis plsticos pr-fabricados, que no
protegem as juntas adequadamente, soltando-se com facilidade.
A partir dos anos 90, com a difuso do emprego de empilhadeiras eltricas com rodas
rgidas, a reduo do nmero de juntas passou a ser muito importante na operao do
piso e as tecnologias que no acompanhavam essa tendncia acabaram sucumbindo.
Hoje em dia, so comuns os pisos constitudos por camada nica, executados com
concretos de alta resistncia, superiores a 30MPa de resistncia compresso e 4,2MPa
trao na flexo.
Quando h necessidade de incremento da resistncia abraso, so feitas asperses
com misturas de agregados minerais ou metlicos, durante a fase de acabamento do
piso, j existindo produtos que, alm de incrementar a resistncia superficial, permitem
colorir o piso.
Na dcada de 90, com a abertura das importaes no Brasil somada evoluo
tecnolgica dos equipamentos, ocorreu uma verdadeira revoluo na execuo dos pisos
industriais, graas ao surgimento de sistemas de nivelamentos mais geis, rgua
vibratrias com vos superiores a 10m, acabadoras de superfcie, simples e duplas, com
grande capacidade e eficincia, sem mencionar as versteis e geis mquinas do tipo
Laser Screed, de alta produtividade.
Todas essas inovaes foram fruto de um fator muito importante: o aumento de
exigncia do usurio final. O piso deixou de ser um componente construtivo e passou a
ser um verdadeiro equipamento das indstrias e empresas operadoras de logstica.
Com isso, exigncia pela qualidade passou a atingir nveis nunca antes imaginados que,
aliados a um sistema eficiente de controle geomtrico da superfcie o F-Number
4
permitia a execuo de pisos com desempenho tal que hoje possvel operao, por
exemplo, de empilhadeiras com alturas de elevaes superiores a 18m e elevadas
velocidades de deslocamento.
5. O Concreto para Pisos
Quando falamos em concreto para pisos, procuramos caracteriz-lo como um concreto
diferente do concreto empregado em estruturas, o que realmente ele , pois apresenta
distintas formas de aplicao e sempre tem uma grande rea, em relao ao seu volume,
em contato com o ar, permitindo que ocorra uma perda de gua muito mais severa, quer
em velocidade como um resultado global, do que o concreto convencional.
Como parmetros mnimos de dosagem, temos:
a) Consumo de cimento: 320 kg/m
3
;
b) Teor de argamassa entre 49% e 52%;
c) Abatimento mnimo entre 80mm e 100mm;
d) Ar incorporado inferior a 3%.
A fixao do consumo mnimo de cimento est associada resistncia superficial do
piso, pois na fase de acabamento deve haver uma quantidade de pasta suficiente para o
fechamento e alisamento superficial, embora este fator no seja o nico responsvel pela
resistncia abraso. Resumidamente a resistncia superficial pode ser correlacionada
diretamente com a resistncia compresso, mas pode ser fortemente afetada pela
exsudao do concreto, que levaria a uma maior relao gua-cimento gerando, portanto
uma menor resistncia superficial. A fixao do consumo mnimo de cimento , muitas
vezes polmica, mas vamos ver o que dizem as normas: a da ABNT (ABNT, 1986) fixa o
4
O sistema F-Number composto por dois nmeros: F
F
que mede a planicidade e o F
L
que mede o nivelamento.
regido pela norma ASTM E 1133/96.
Instituto Brasileiro do Concreto - 44 Congresso Brasileiro
44 Congresso Brasileiro do Concreto 9
consumo mnimo de 320kg/m
3
; o ACI 302-1R (ACI, 1996) estabelece valores entre
280kg/m
3
, quando a dimenso mxima do agregado for 38mm e 360kg/m
3
, quando a
referida dimenso for 10mm. Mais objetiva esta norma fixa valores de resistncia
mecnica entre 21MPa e 31MPa, dependendo da classe do piso.
O teor de argamassa est associado a trabalhabilidade necessria nas operaes com o
rodo de corte e outros equipamentos, para garantir o ndice de planicidade do piso.
Teores baixos deixam o agregados grados muito prximos da superfcie tornando-os
visveis em funo da alterao de colorao a argamassa que est sobre ele; teores
muito elevados podem causar a delaminao da camada superficial.
O abatimento, da mesma forma que o teor de argamassa, e funo das necessidades de
lanamento e acabamento superficiais. Misturas mais rgidas tornam difceis as
operaes com rgua vibratria, fazendo com que o lanamento seja muito lento, alm
do que a baixa potncia de vibrao desse equipamento no permita que a quantidade
de argamassa superficial seja suficiente s operaes de acabamento. Por outro lado,
misturas excessivamente plsticas, com abatimento superior a 12 so facilmente
segregveis quando no se emprega critrios de dosagens adequados e normalmente
essas misturas mais fluidas exigem quase sempre o emprego de aditivos mais caros e
no justificando o seu emprego.
Finalmente, a limitao do teor de ar incorporado relativamente recente e imposta em
funo da ocorrncia da delaminao, patologia muito sria e que tem como uma de
suas causas o teor de ar incorporado na mistura. Essa limitao tem causado alguma
confuso junto aos especificadores, pois no Brasil comum o emprego de ar incorporado
em concretos de pavimentao e no h ocorrncia de delaminao nessas obras; a
diferena fundamental que nos pavimentos a textura superficial aberta acabamento
vassourado permitindo a sada do ar, enquanto nos pisos ela fechada acabamento
vtreo retendo o ar sob essa camada superficial mais densa.
6. A Influncia das Fibras de Polipropileno nas Propriedades do
Concreto nas Primeiras Idades
O concreto reforado com fibras de polipropileno um tipo de compsito fibroso.
Conforme sugerido nas sees anteriores o concreto e as fibras de polipropileno so
materiais que se complementam porque ao serem combinados formam um material mais
completo e verstil. Procura-se nas prximas sees, com base no arcabouo terico
anteriormente apresentado, justificar os efeitos das fibras de polipropileno em algumas
das propriedades do concreto no estado plstico.
As fibras plsticas so empregadas no concreto de piso, sendo que a propriedade mais
facilmente notada o aumento da coeso da mistura fresca. Sua funo principal
minimizar a fissurao que ocorre no estado plstico e nas suas primeiras horas de
endurecimento, no devendo substituir os habituais reforos para o combate da retrao
hidrulica, pois apresentam pouca influncia sobre as propriedades do concreto
endurecido (ACI, 1996).
A Portland Cement Association (PCA, 1995) desenvolveu grficos para estimar a nvel de
evaporao em funo da umidade relativa do ar, temperatura do concreto e velocidade
do vento. Segundo esse trabalho, se a taxa de evaporao atingir 1litro/m
2
/hora
recomendada que sejam tomadas precaues contra a fissurao por retrao plstica.
Para exemplificar, a condio climtica com temperatura do ar em 25
0
C, umidade relativa
dor ar de 40%, temperatura do concreto de 30
0
C e velocidade de vento de 15 km/h
suficiente para se atingir um nvel de evaporao de 1litro/m
2
/hora.
Instituto Brasileiro do Concreto - 44 Congresso Brasileiro
44 Congresso Brasileiro do Concreto 10
As fissuras de retrao plstica so causadas pela mudana de volume do concreto no
estado plstico. As retraes que ocorrem no concreto antes do seu endurecimento
podem ser dividias em quatro fases (Wang et al, 2001):
Primeira fase - assentamento plstico: ocorre antes da evaporao da gua do concreto;
quando do lanamento, o espao entre as partculas slidas esto preenchidas com
gua; assim que essas partculas slidas assentam, existe a tendncia da gua subir
para a superfcie formando um filme e esse fenmeno conhecido por exsudao. Neste
estgio a mudana de volume do concreto muito pequena. A retrao por
assentamento plstico ocorre quando a exsudao elevada e o cobrimento da
armadura reduzida. A combinao destes fatores provoca elevado grau de
assentamento do concreto e se ele for restringido pela armadura, a ponto de gerar
tenses internas de trao, certamente ocorrero fissuras originadas do assentamento
plstico. Deve-se notar que estas fissuras so independentes da evaporao e da
secagem da superfcie. Alm da espessura do cobrimento, quanto maior o abatimento do
concreto e o dimetro da armadura maior a possibilidade da ocorrncia de fissuras de
assentamento plstico (Suprenant, 1999). As fibras de polipropileno reduzem a
exsudao diminuindo o nvel de assentamento, formando um micro reforo
tridimensional que suspende ou sustenta os agregados, impedindo que eles assentem
sob a ao da gravidade e, alm disso, as fibras, conforme mencionado anteriormente,
aumentam a resistncia trao nas primeiras idades. Com isso as fissuras por
assentamento plstico so minimizadas.
Segunda fase - retrao plstica primria ou retrao por exsudao: a fissura plstica
clssica. A gua superficial comea a evaporar-se por razes climticas calor, vento,
insolao e quando a taxa de evaporao excede a da exsudao, o concreto comea
a contrair-se. Este tipo de retrao ocorre antes e durante a pega e atribuda s
presses que desenvolvem nos poros capilares do concreto durante a evaporao.
Terceira fase - Retrao Autgena
5
: neste caso, quando a hidratao do cimento se
desenvolve, os produtos formados envolvem os agregados mantendo-os unidos; nessa
fase, a importncia da capilaridade decresce e o assentamento plstico e a retrao
plstica primaria decrescem, tomando seu lugar a retrao autgena, que quando o
concreto est ainda no estado plstico pequena, ocorrendo quase que totalmente aps
a pega do concreto. No passado essa parcela da retrao era praticamente desprezada,
mas hoje, principalmente com o emprego de baixas relaes gua/cimento, a retrao
autgena ganhou destaque importante.
Quarta fase - retrao plstica secundria: ocorre durante o incio do endurecimento do
concreto. Assim que o concreto comea ganhar resistncia, a retrao plstica tende a
desaparecer.
As combinaes mais comuns de ocorrncia da retrao plstica so as trs primeiras
fases: assentamento plstico, retrao por exsudao e a autgena. Sempre que h
restries a essas variaes volumtricas, tanto internas como externas, desenvolvem-
se tenses de frao com probabilidade da ocorrncia de fissuras.
Nos ltimos anos temos observado um aumento significativo das patologias associadas
retrao plstica do concreto, que podem estar ligadas a relaes gua/cimento mais
baixas e ao emprego de cimentos de finura mais elevada, alm do emprego de outros
materiais cimentcios adicionados a ele, como a escria de alto forno, pozolanas, filer
calcrio, que so geralmente extremamente finos; sabido que essas adies
incrementam a retrao do concreto (Kejin et al, 2001 e Neville, 1997).
5
Defini-se como retrao autgena, retrao que ocorre sem troca de massa com o meio ambiente, isto , sem qua
haja perda de gua.
Instituto Brasileiro do Concreto - 44 Congresso Brasileiro
44 Congresso Brasileiro do Concreto 11
Esse aumento na retrao plstica geralmente est associado a trs fatores: baixas
taxas de exsudao, elevada retrao autgena e elevadas presses capilares
provenientes das altas finuras dos materiais cimentcios.
H algum tempo, imaginava-se que as fissuras de retrao plsticas eram inofensivas,
pois apresentavam pequena profundidade, no progredindo com o pavimento em
utilizao. Isso com certeza era verdadeiro quando as tenses de retrao hidrulica
eram baixas e as tenses de utilizao aquelas oriundas dos carregamentos eram
pequenas devido principalmente s elevadas espessuras.
Hoje em dia, alm das expressivas retraes dos concretos modernos, os pisos so na
sua totalidade empregados com reforos, com telas soldadas ou fibras de ao, que
levaram a uma reduo na espessura com o incremento das tenses atuantes, alm do
que, a necessidade na reduo de custos tm imposto espessuras mais arrojadas.
Como conseqncia, observa-se hoje um grande nmero de fissuras, cujo aspecto s
pode ser explicado pela evoluo das antes inofensivas fissuras plsticas.
O emprego de fibras sintticas como auxiliares no combate ou reduo das fissuras de
retrao plstica tem sido largamente difundido por diversos pesquisadores, embora o
mecanismo como isso ocorre no seja bem conhecido, havendo vertentes que advogam
que os complexos mecanismos da presso dos poros capilares desempenham
importante papel na reduo da retrao e conseqentemente das fissuras, enquanto
outros preferem atribuir s fibras a reduo dos efeitos danosos da retrao (Padron et
al, 1990); provavelmente e pelos resultados de pesquisas experimentais ambas teorias
so vlidas, sendo que a questo da reduo da porosidade capilar ir afetar
basicamente a retrao por exsudao, enquanto que a fibra, como material de reforo
deve atuar nos estgios subseqentes, enquanto o mdulo de elasticidade da fibra
plstica for superior ao da pasta de cimento.
Por exemplo, Padron e Zollo (Padron et al, 1990) pesquisando concretos e argamassas
com reforos de fibras de polipropileno e acrlico obtiveram, para o concreto, que a
reduo da quantidade de fissuras variou entre 18% a 23%, enquanto que a retrao
total dos corpos de prova variou de 52% a 100% com relao ao padro de concreto
simples. Curiosamente, a amostra com fibras que apresentou a mesma retrao do
padro, foi a que exibiu menor quantidade de fissuras, 18% da observada no concreto
simples; vemos que esses dados indicam que os dois fatores estiveram presentes. O
mecanismo principal de atuao das fibras pode ser modelado como:
a) O concreto simples, logo aps o lanamento, fludo. Aos poucos o concreto
endurece e com isso perde sua fluidez e, conseqentemente, sua capacidade de
deformao,
b) Em contra partida, com a evaporao da gua de exsudao a retrao aumenta at
que em determinado momento o nvel de deformao de retrao maior que a
capacidade do concreto absorver estas deformaes, e ento, as fissuras aparecem;
c) O concreto com fibras de polipropileno mais deformvel nas primeiras idades. As
fibras com 80% de deformao de ruptura transferem esta capacidade de deformao
para o concreto. A deformao devido retrao a mesma, porm no maior que a do
concreto com fibras. Assim as fissuras so inibidas ou sua freqncia e tamanhos so
reduzidos.
Na pesquisa citada (Padron et al, 1990), os autores efetuaram as medidas aps 16 horas
de exposio em tnel de vento, sendo que as primeiras fissuras foram observadas cerca
de duas horas aps a moldagem. Uma das dificuldades que se observa nessas diversas
pesquisas o tipo de ensaio que foi empregado, pois os normalizados, como o ASTM
C157
6
, no so adequados determinao da retrao nas primeiras idades e na
verdade cada pesquisador acaba por adotar um procedimento diferente e, portanto os
6
ASTM C157: Standard Test Method for Length Change of Hardened Hydraulic Cement Mortar and Concrete.
Instituto Brasileiro do Concreto - 44 Congresso Brasileiro
44 Congresso Brasileiro do Concreto 12
ensaios tem valor comparativo, mas no so na maioria dos casos, intercambiveis. Em
comum esses ensaios tm o emprego de cmaras de vento, umidade e temperatura
controladas e a amostra submetida a algum tipo de restrio, como um o-ring,
aderncia na base simulando um overlay aderido ou outras restries movimentao.
A eficincia das fibras depende de diversos fatores, como a sua relao L/d,
comprimento, mdulo de elasticidade, dosagem e at mesmo as caractersticas do
prprio concreto: por exemplo, matrizes mais ricas (menor relao cimento/areia)
respondem mais eficientemente adio das fibras e o concreto leve apresenta maior
potencial de reduo de fissuras do que o convencional, quando so empregados teores
e tipos idnticos de fibras (Balaguru, 1994).
Balaguru desenvolveu um extenso programa de ensaios com diversos tipos de fibras
sintticas e tambm de ao e suas principais concluses podem ser sumarizadas em:
c) A adio de fibras sintticas, mesmo em teores to baixos como 0,45kg/m
promove alguma reduo na quantidade de fissuras;
d) Redues mais acentuadas so conseguidas com dosagens entre 0,45kg/m e
0,90kg/m;
e) Para fibras longas, aquelas que apresentam menor mdulo de elasticidade so as
que propiciam melhor desempenho;
f) Para dosagens do 0,9kg/m, tanto para as fibras de nylon como as de
polipropileno, praticamente no se observou, nos experimentos, fissuras de
retrao plstica.
g) A quantidade de fibras nmero de fibras por quilograma um parmetro
importante de dosagem;
h) Fibras longas apresentam melhor desempenho em argamassas mais pobres e
concretos, enquanto que as microfibras apresentam melhores resultados nas
misturas mais ricas.
i) Com as fibras sintticas, no ocorre apenas a reduo da quantidade de fissuras,
mas tambm a abertura delas menor.
Portanto, vemos que a dosagem dos concretos com fibras sintticas no pode ser
generalizada para qualquer tipo de fibra, mas sim fruto de anlise experimental que
conduzir ao melhor resultado final.
Embora as fibras venham sendo empregadas em pavimentao praticamente desde
1978, ainda observamos hoje algumas lacunas que poderiam melhorar a
compreenso da sua forma de ao e contribuir para um melhor desempenho do
concreto, mas a dosagem ainda feita com certo grau de empirismo, o que muitas
vezes pode causar dvidas com no usurio.
7. Caso de Obra: Pavimento em Concreto da Av. Terceira Perimetral
A Av. Terceira Perimetral uma via expressa que inicia no Laador, smbolo de Porto
Alegre, na entrada da cidade, e cruza 20 bairros, sem passar pelo centro da capital
gacha.
No total so 20 km de extenso, 28 m de largura com seis faixas de rolamento e um
corredor de nibus de mo dupla no centro. A obra que teve incio em novembro de
1999, ter um consumo estimado de 90.000 m
3
de concreto em 4 anos de execuo.
Instituto Brasileiro do Concreto - 44 Congresso Brasileiro
44 Congresso Brasileiro do Concreto 13
Figura 7.1: vista parcial da Av. Terceira Perimetral, Porto Alegre/RS
Trecho1: Av. Senador Tarso Dutra e Rua Dr. Salvador Frana (at Av. Ipiranga)
O Trecho 1 teve incio em novembro de 1999. Com extenso de 2,2 km e um consumo
de concreto de 12.000 m
3
, este trecho contempla uma camada de 10 a 12 cm de CCR
sob uma placa de concreto com espessura de 18 cm que foi executada utilizando-se
pavimentadora.
Mesmo utilizando os procedimentos de execuo de pavimentos em concreto
considerados adequados para uma obra desta envergadura houve a ocorrncia de
fissuras de retrao ao longo de toda a extenso do trecho.
Alm do desgaste junto ao contratante, as fissuras trouxeram prejuzos financeiros
considerveis ao consrcio executor do pavimento pois as mesmas tiveram que receber
injeo de resina epxi para remediar os problemas ocasionados por esta patologia.
Figura 7.2: Fissura de retrao plstica Figura 7.3: Fissuras com injeo de resina
epxi
Instituto Brasileiro do Concreto
.
44 Congresso Brasileiro do Concreto 14
A) Trecho 2: Rua Dr Salvador Frana (aps Av. Ipiranga) e Av. Cel. Aparcio Borges
O Trecho 2 teve seu incio de execuo em maio de 2001. Com extenso de 2,5 km e
consumo de concreto estimado de 14.000 m
3
, o trecho tem basicamente o mesmo
projeto do anterior: camada de CCR sob uma placa de concreto de 18 cm, tambm
executada com pavimentadora.
Haja visto, os problemas de fissuras de retrao ocorridos no primeiro trecho e
conseqentes despesas extras com injeo de resina epxi, optou-se por utilizar fibras
de polipropileno para evitar tais fissuras, mesmo no tendo sido especificadas no projeto
original.
Este trecho j est praticamente concludo e o desempenho esta sendo considerado
bastante satisfatrio. As fibras so incorporadas no misturador da concreteira a uma
dosagem de 600 g/m
3
. Por serem extremamente finas e maleveis no ficam aparentes
na superfcie do concreto. No houve alterao dos procedimentos de cura e do
espaamento entre as juntas das placas.
Figura 7.4: execuo do pavimento em concreto da Av. Terceira Perimetral com fibras de
polipropileno
Atualmente a utilizao das fibras de polipropileno est generalizado em todo o
pavimento da obra. O concreto do terceiro trecho, correspondente a Av. Carlos Gomes,
tambm contm fibras de polipropileno para diminuir a incidncia de fissuras de retrao
plstica. Este o primeiro caso documentado de pavimento rgido virio no Brasil que
adotou as fibras de polipropileno como alternativa as fissuras de retrao.
Instituto Brasileiro do Concreto
.
44 Congresso Brasileiro do Concreto 15
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
American Concrete Institute. ACI 302.1R- 96 Guide for concrete floor and
slab construction. Outubro, 1997, Michigan.
Associao Brasileira de Cimento Portland. BT 106 Guia bsico de utilizao do
cimento portland. Setembro 1994, So Paulo.
Associao Brasileira de Normas Tcnicas. NBR 7583 Execuo de pavimentos de
concreto simples por meio mecnico. Agosto 1986, Rio de Janeiro.
Balaguru, P.: Contribution of fibers to crack reduction of cement composites during
the initial and final setting period. Journal of Materials. American Concrete Institute,
May-June 1994.
BudinskI, K, G.: Engineering Materials: properties and selection. Prentice Hall
International., 5ed, 1996. 653p. New Jersey.
Correia, Wanderley Guimares Tecnologia de concreto para pavimentao. In: Anais
do Seminrio sobre Pavimentos de Concreto, Ibracon, Maio 1978, So Paulo.
Hannant, L.: Fibre-reinforced cements and concretes. In: J. M. ILLSTON.
Construction Materials; their nature and behaviour. : J. M. Illston/E & FN Spon, 2ed.,
1994. p. 359-403, London.
Higgins, R. A. Properties of engineering materials. E. Arnold, 2ed., 1994. 495p.
London.
Hollaway, L. Polymers and polymer composites. In: J. M. ILLSTON. Construction
Materials; their nature and behaviour. 2ed. J. M. Illston/E & FN Spon, 1994. p.321-
358, London.
Illston, J. M. [Ed]. Construction Materials; their nature and behaviour. E & FN Spon,
2ed., 1994. 518p., London.
Johnston, C. D.: Fibre-reinforced cement and concrete. In: V. M. Malhorta. Advances
in concrete technology. 2ed. : V. M. Malhotra, 1994. p.603-673. Ottawa
Mehta, P. K.; Monteiro, J. M. Concreto: estrutura, propriedades e materiais. Pini,
1994. 573p., So Paulo.
Neville, Adam M.: Propriedades do Concreto. Ed. Pine 2
a
. Edio, maro 1997, So
Paulo.
Padron, Isabel and Zollo, Ronald F. Effect of synthetic fibers on volume stability and
cracking of Portland Cement Concrete and Mortar. Journal of Materials. American
Concrete Institute, July-August 1990.
Canadian Portland Cement Association. Design and Conctrol of concrete mixtures,
Sixth Canadian Edition1995. PCA 1995. Otawa
Rodrigues, Pblio Penna F. e Ligrio, Paulo Eugnio C. Argamassa de alta
resistncia mecnica para pisos. In Seminrio sobre Argamassas, Ibracon, 1985, So
Paulo.
SUPRENANT, B. A.; MALISCH, W. R. The fiber factor. The Aberdeen Group Hanley-
Wood, Inc., Concrete Construction 1999.
Taylor, G. D. Materials in Construction. Longman Scientific & Technical, 2ed, 1994.
284p., London.
Wang, Kejin, Surendra P. S. and Phuaksuk, Pariya. Plastic shrinkage
cracking in concrete materials Influence of fly ash and fibers. Journal
of Materials. American Concrete Institute, November-December 2001.
Michigan
Zellers, Robert C. An overview of synthetic-fiber-reinforced concrete. The Aberdeen
Group, Concrete Construction, 1994. Illinois.
Instituto Brasileiro do Concreto
.
44 Congresso Brasileiro do Concreto 16
Você também pode gostar
- Microdrenagem Urbana - Bocas de Lobo - COM EXEMPLODocumento81 páginasMicrodrenagem Urbana - Bocas de Lobo - COM EXEMPLOhendy.cnAinda não há avaliações
- Analise Dos Clubes Brasileiros de Futebol 2021 Itau BBADocumento309 páginasAnalise Dos Clubes Brasileiros de Futebol 2021 Itau BBARaphael GuimarãesAinda não há avaliações
- 2a Via de Fatura CoelbaDocumento1 página2a Via de Fatura CoelbaLuis Felipe0% (1)
- Infiltração em Alvenaria PDFDocumento7 páginasInfiltração em Alvenaria PDFklevinho29Ainda não há avaliações
- Estudo de Caso: Avaliação Dos Riscos Das Atividades Do Setor de Laminação de Uma Fábrica de Embalagens CartonadasDocumento53 páginasEstudo de Caso: Avaliação Dos Riscos Das Atividades Do Setor de Laminação de Uma Fábrica de Embalagens CartonadasLui OzAinda não há avaliações
- PCC USP - Concreto Com Fibras de Aço - Antônio Domingues de Figueiredo - SamanthaDocumento70 páginasPCC USP - Concreto Com Fibras de Aço - Antônio Domingues de Figueiredo - SamanthasamanthameloAinda não há avaliações
- Tratamento de Esgoto para Residências: um projeto barato e prático usando tubos e conexões de PVCNo EverandTratamento de Esgoto para Residências: um projeto barato e prático usando tubos e conexões de PVCAinda não há avaliações
- Trincas e Fissuras em Edificações: causadas por recalques diferenciaisNo EverandTrincas e Fissuras em Edificações: causadas por recalques diferenciaisAinda não há avaliações
- Reologia do Concreto: Fatores influentes para previsão da retração e fluênciaNo EverandReologia do Concreto: Fatores influentes para previsão da retração e fluênciaAinda não há avaliações
- Proposta de Adaptação de Painéis: Verticais para Sistema Construtivo Wood Frame com Madeira de EucaliptoNo EverandProposta de Adaptação de Painéis: Verticais para Sistema Construtivo Wood Frame com Madeira de EucaliptoAinda não há avaliações
- Princípios da mecânica dos solos e fundações para a construção civilNo EverandPrincípios da mecânica dos solos e fundações para a construção civilAinda não há avaliações
- Análise do Light Steel Framing como método construtivo e na reabilitação eficaz e sustentávelNo EverandAnálise do Light Steel Framing como método construtivo e na reabilitação eficaz e sustentávelAinda não há avaliações
- Resíduos Sólidos Na Construção Civil E Seu DestinoNo EverandResíduos Sólidos Na Construção Civil E Seu DestinoAinda não há avaliações
- Concreto CiclopicoDocumento3 páginasConcreto CiclopicoMarcelo Rezende AzevedoAinda não há avaliações
- Revista Concreto - 90Documento116 páginasRevista Concreto - 90Kamilly ProtzAinda não há avaliações
- Dimensionamento de Bloco de CoroamentoDocumento7 páginasDimensionamento de Bloco de CoroamentoAtos PedroAinda não há avaliações
- NeoPlastic GeomembranaPEADDocumento9 páginasNeoPlastic GeomembranaPEADLuciano Lopes SimõesAinda não há avaliações
- Livro Materiais Falcao BauerDocumento0 páginaLivro Materiais Falcao BauerAna Claudia Fernandes100% (1)
- Manual Instalação GeomembranaDocumento41 páginasManual Instalação GeomembranaRodrigoMouraMarquesAinda não há avaliações
- RIMA Rodovia Ferrovia KlabinDocumento97 páginasRIMA Rodovia Ferrovia KlabindaimartinsAinda não há avaliações
- Principios Da Galvanizacao A FogoDocumento30 páginasPrincipios Da Galvanizacao A FogoìanbauAinda não há avaliações
- Erosões Nas Estruturas de Concreto Das GaleriasDocumento11 páginasErosões Nas Estruturas de Concreto Das Galeriasandersonline1854100% (1)
- Sikadur 32 PDFDocumento2 páginasSikadur 32 PDFChicoBento13100% (1)
- Trinca Ou FissuraDocumento6 páginasTrinca Ou FissuraFabrício ProfetaAinda não há avaliações
- Arteris 108.terraplanagem Aterro Rev.2Documento17 páginasArteris 108.terraplanagem Aterro Rev.2Eder Chaveiro100% (1)
- Fundamentos AlumínioDocumento35 páginasFundamentos AlumínioRui TavaresAinda não há avaliações
- DimensionamentoDocumento17 páginasDimensionamentoLeonardo FernandesAinda não há avaliações
- Revista Recuperar Ed78Documento24 páginasRevista Recuperar Ed78Gregory MachadoAinda não há avaliações
- Revista93 Revista Concreto PDFDocumento88 páginasRevista93 Revista Concreto PDFMário MouraAinda não há avaliações
- Caderno de Esgotamento e Drenagem Urbana 2017 PDFDocumento64 páginasCaderno de Esgotamento e Drenagem Urbana 2017 PDFMarcus Antonio BarrosAinda não há avaliações
- Calculo de Empolamento e Contracao Do SoloDocumento15 páginasCalculo de Empolamento e Contracao Do Solovida sozinho vidaAinda não há avaliações
- Revista de Engenharia e Pesquisa Aplicada PDFDocumento182 páginasRevista de Engenharia e Pesquisa Aplicada PDFmarceloalmeAinda não há avaliações
- Piscina Com Borda Infinita Dimensionamento Dos EquipamentosDocumento9 páginasPiscina Com Borda Infinita Dimensionamento Dos EquipamentosCézarCavalcanteAinda não há avaliações
- Desmontes e DemoliçõesDocumento54 páginasDesmontes e DemoliçõesMapas Geografia100% (1)
- 2017 - Artigo - Cortina de ContencaoDocumento6 páginas2017 - Artigo - Cortina de Contencaomevice63Ainda não há avaliações
- Revista OE 576 Final CompletaDocumento142 páginasRevista OE 576 Final CompletaSergioAinda não há avaliações
- Aterros Sanitarios No BrasilDocumento1 páginaAterros Sanitarios No BrasilNeide SousaAinda não há avaliações
- Tab Carretas PDFDocumento1 páginaTab Carretas PDFALMEIDAFS23Ainda não há avaliações
- Artigo Techne Jul 2010 - Trincas Ou FissurasDocumento7 páginasArtigo Techne Jul 2010 - Trincas Ou FissuraslucasAinda não há avaliações
- PavimentosFlexiveiseRigidos LucasAdadaDocumento89 páginasPavimentosFlexiveiseRigidos LucasAdadaAlberto Peixoto Neto100% (1)
- Artigo Techne Jul 2010 - Doenças ConcretasDocumento11 páginasArtigo Techne Jul 2010 - Doenças ConcretaslucasAinda não há avaliações
- PHD 2416 Comportas e Dispositivos de ControleDocumento37 páginasPHD 2416 Comportas e Dispositivos de ControleRenanAinda não há avaliações
- Revista Do Concreto 79Documento132 páginasRevista Do Concreto 79Sol SAinda não há avaliações
- TCC - Estudo de Caso de Patologias em Pavimento Flexível em Rodovia Do Oeste Do ParanáDocumento20 páginasTCC - Estudo de Caso de Patologias em Pavimento Flexível em Rodovia Do Oeste Do ParanáNathália SouzaAinda não há avaliações
- Emvp - 15 Dormente de Madeira PDFDocumento31 páginasEmvp - 15 Dormente de Madeira PDFHesoliAinda não há avaliações
- Planilha Precos Setop Central Sem DesoneracaoDocumento194 páginasPlanilha Precos Setop Central Sem DesoneracaoWallysson CoelhoAinda não há avaliações
- OBRAS DE ARTES ESPECIAIShiDocumento43 páginasOBRAS DE ARTES ESPECIAIShiMike NovaesAinda não há avaliações
- A Norma Tecnica Brasileira de Reação Alcali - Agregado Faz Seu Primeiro AniversarioDocumento15 páginasA Norma Tecnica Brasileira de Reação Alcali - Agregado Faz Seu Primeiro AniversarioARNALDO BATTAGIN100% (2)
- RESUMO - Drenagem PDFDocumento11 páginasRESUMO - Drenagem PDFAldinei BenitesAinda não há avaliações
- Revista Recuperar - 83 EdDocumento26 páginasRevista Recuperar - 83 EdRenata MarianoAinda não há avaliações
- Revista Recuperar Ed61Documento25 páginasRevista Recuperar Ed61daniel guedesAinda não há avaliações
- Revista Do Concreto 81 PDFDocumento116 páginasRevista Do Concreto 81 PDFSol SAinda não há avaliações
- Pavimento Intertravado - Execução e ManutençãoDocumento63 páginasPavimento Intertravado - Execução e Manutençãodwhitakerflx100% (1)
- Aula 05 - Vertedouros (Felipe Eugenio)Documento55 páginasAula 05 - Vertedouros (Felipe Eugenio)Antonio TakeshiAinda não há avaliações
- ARQUITETURA EM BAMBU - Técnicas Construtivas Na Utilização Do BambuDocumento27 páginasARQUITETURA EM BAMBU - Técnicas Construtivas Na Utilização Do BambuMarco Antonio de OliveiraAinda não há avaliações
- Estudo - PROJETO Doação de SangueDocumento6 páginasEstudo - PROJETO Doação de SangueCris FotosAinda não há avaliações
- CBIC Analise Criterios de Atendimento Normal Desempenho 15.575Documento76 páginasCBIC Analise Criterios de Atendimento Normal Desempenho 15.575Leonardo AmaralAinda não há avaliações
- Manual JuntasDocumento19 páginasManual JuntasjpgodoyvelascoAinda não há avaliações
- Cálculo MateriaisDocumento1 páginaCálculo Materiaisnogueira1000Ainda não há avaliações
- Apostila de Instalação de Águas Pluviais - Infra - SlidesDocumento23 páginasApostila de Instalação de Águas Pluviais - Infra - SlidesBraulio Pinto100% (1)
- Artigo 0003Documento7 páginasArtigo 0003crotalusAinda não há avaliações
- Carteira de DividendosDocumento16 páginasCarteira de DividendosJoao Henrique De Souza JuniorAinda não há avaliações
- ACÓRDÃODocumento11 páginasACÓRDÃOVinícius AraujoAinda não há avaliações
- Questionario Unidade I AlunoDocumento7 páginasQuestionario Unidade I AlunoGabriel Dos SantosAinda não há avaliações
- 040. Analisar demanda - Sistema de Governança Institucional.pdf 22.03.24Documento9 páginas040. Analisar demanda - Sistema de Governança Institucional.pdf 22.03.24Steffanny ZacariasAinda não há avaliações
- Plano de NegociosDocumento44 páginasPlano de NegociosJuliane Thais Dos Santos AssolariAinda não há avaliações
- ContratoDocumento21 páginasContratoLegítimo AdoradorAinda não há avaliações
- Conceitos Básicos de TransporteDocumento27 páginasConceitos Básicos de TransporteTheos MinistersAinda não há avaliações
- Abreu 2020Documento111 páginasAbreu 2020trechos doFlowAinda não há avaliações
- Gestão Estratégica - Aula 1 - Apresentando A DisciplinaDocumento16 páginasGestão Estratégica - Aula 1 - Apresentando A DisciplinaEltonAinda não há avaliações
- Boleto CrafilDocumento1 páginaBoleto CrafilMarco Polo SouzaAinda não há avaliações
- Atividade 01Documento5 páginasAtividade 01Naiana SearaAinda não há avaliações
- 1-Evolução Das Teorias Da Administração PDFDocumento15 páginas1-Evolução Das Teorias Da Administração PDFRenato VieiraAinda não há avaliações
- Ordem de Serviço - Analista Operacional PlenoDocumento2 páginasOrdem de Serviço - Analista Operacional PlenoRONALDOAinda não há avaliações
- Mod - 3 - Implementação Do Programa de Compliance Na Estrutura de Uma OrganizaçãoDocumento15 páginasMod - 3 - Implementação Do Programa de Compliance Na Estrutura de Uma OrganizaçãoAldoAinda não há avaliações
- PRODUTO$ CONCORRIDO$ - Não Fuja, Ame!Documento4 páginasPRODUTO$ CONCORRIDO$ - Não Fuja, Ame!AryelleAinda não há avaliações
- Martelete Bosch Perfurador Rompedor GBH 5-40D SDS Max 1100W - DiaferDocumento1 páginaMartelete Bosch Perfurador Rompedor GBH 5-40D SDS Max 1100W - DiaferFranciolli PerettiAinda não há avaliações
- Calcular Os Impostos de Uma Nota FiscalDocumento2 páginasCalcular Os Impostos de Uma Nota Fiscalwess34100% (1)
- Jumil. 7104002 - ANEL RETENCAO 40X1,75-DIN 472Documento2 páginasJumil. 7104002 - ANEL RETENCAO 40X1,75-DIN 472thaisswiestAinda não há avaliações
- Ementa 0080Documento3 páginasEmenta 0080André LuizAinda não há avaliações
- UC1 - Aula 2 - FluxogramaDocumento30 páginasUC1 - Aula 2 - FluxogramaDaniela CorreaAinda não há avaliações
- Historico CreditosDocumento2 páginasHistorico CreditosDocumentos VendasAinda não há avaliações
- Pericia Contabil Processos Judiciais 815Documento16 páginasPericia Contabil Processos Judiciais 815Valor GerencialAinda não há avaliações
- Fichas TécnicasDocumento1 páginaFichas Técnicasdebora_dcAinda não há avaliações
- Dossier Expositor Filda 2021 - Nacionais - V4Documento10 páginasDossier Expositor Filda 2021 - Nacionais - V4Joaquim Baltazar NgolaAinda não há avaliações
- A Formação Dos Blocos RegionaisDocumento36 páginasA Formação Dos Blocos RegionaisRodrigo NascimentoAinda não há avaliações
- Modelo Conteúdo Bruto - ColaboraçãoDocumento8 páginasModelo Conteúdo Bruto - ColaboraçãoMaurício OsórioAinda não há avaliações
- ODS - Guia para Empresas (Diretrizes para Implementação)Documento17 páginasODS - Guia para Empresas (Diretrizes para Implementação)Everton VascoutoAinda não há avaliações