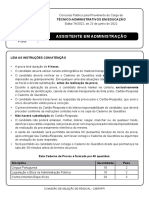Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Artigo Heloísa Marques
Artigo Heloísa Marques
Enviado por
Mackson SantosDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Artigo Heloísa Marques
Artigo Heloísa Marques
Enviado por
Mackson SantosDireitos autorais:
Formatos disponíveis
UNIVERSIDADE DE SO PAULO
Faculdade de Economia, Administrao e Contabilidade
Departamento de Administrao
ARTIGO DO TRABALHO DE CONCLUSO DE CURSO
Modelagem de Rede Logstica como Fonte Potencial
de Vantagem Competitiva
Estudo de Caso em uma Empresa Siderrgica
Helosa Marques Ubrig
Orientador:
Prof. Dr. Jorge Luiz de Biazzi
So Paulo
2005
Resumo: Este artigo explora o papel da logstica e, em particular, o papel da
modelagem da rede logstica, como fonte potencial de vantagem competitiva.
Quanto ao enfoque prtico, o artigo compreende, especificamente, o
desenvolvimento de uma estratgia tima de alocao da demanda aplicada a um sistema
composto por Centros de Corte e Dobra de Ao, Usinas Siderrgicas, Mercado Interno e
Mercado Externo. Quanto ao enfoque terico, sero enfatizadas as questes relacionadas
logstica, mais particularmente, modelagem de rede logstica e suas implicaes no
desempenho das empresas. O caso prtico apresentado, desenvolvido atravs de um
modelo baseado em programao linear inteira mista, mostra que possvel conseguir
resultados significativos e imediatos atravs da remodelagem de rede logstica.
Palavras-Chave: Logstica; Modelagem de Redes; Programao Linear Inteira
Mista.
2
1. INTRODUO
Ao longo da histria do homem, as guerras tm sido ganhas e perdidas atravs do
poder e da capacidade da logstica, ou de sua falta. O deslocamento de suprimentos e de
tropas, em grandes distncias, e em um curto espao de tempo, se constituiu em um
exerccio logstico altamente proficiente e determinou vitrias, ou derrotas, em diversas
ocasies (Christopher, 1997).
Nos ltimos anos, a logstica vem apresentando uma evoluo constante, sendo hoje
um dos elementos-chave na formao da estratgia competitiva das empresas. No incio,
era confundida com o transporte e a armazenagem de produtos. Hoje, ela pode ser
considerada como o ponto nevrlgico da cadeia produtiva integrada, atuando em estreita
consonncia com o moderno gerenciamento da cadeia de suprimentos (Novaes, 2001).
Tendo em vista a aplicao de conceitos logsticos no planejamento e na
coordenao como um recurso em potencial para a reduo de custos e para a melhoria da
qualidade, o presente artigo tem por objetivo analisar estratgias logsticas em um sistema
composto por Usinas Siderrgicas e Centros de Corte e Dobra de Ao. Em funo da
complexidade de suas inter-relaes e do nmero envolvido de variveis e dados, optou-se
por realizar as anlises com base em um modelo computacional baseado em programao
linear inteira mista.
1.1. OBJETO DE ESTUDO
Devido importncia que a logstica representa como fator determinante do
desempenho das empresas, caracterizando-se, cada vez mais, como uma fonte potencial de
vantagem competitiva e contribuindo de forma significativa para a estrutura de custos, nos
ltimos anos, muitas empresas esto concentrando seus esforos na melhoria de suas
atividades logsticas, como meio de minimizao de custos globais e otimizao dos nveis
de servio. Nesse sentido, encontrou-se uma oportunidade de realizar um trabalho na rea
de logstica, combinando-se conceitos logsticos e um modelo matemtico de otimizao,
com o objetivo de analisar estratgias logsticas em um sistema composto por Usinas
Siderrgicas e Centros de Corte e Dobra de Ao e determinar a alocao tima da demanda
dos Centros de Corte e Dobra de Ao.
Ao otimizar a utilizao dos recursos disponveis, a implantao de um sistema
dessa natureza pode auxiliar a tomada de decises na atual estrutura de planejamento,
aprimorar o atendimento logstico aos clientes e possibilitar a avaliao dos impactos de
diferentes cenrios nos custos do sistema. Ressalta-se que aplicaes desse tipo tm sido
largamente difundidas nos ltimos tempos pela comprovada eficcia dos resultados, pela
expanso da capacidade de processamento dos computadores e pelo desenvolvimento de
softwares especficos.
1.2. CARACTERIZAO DO PROBLEMA
1.2.1. Definio do Problema.
O presente artigo analisar um sistema composto por Usinas Siderrgicas e Centros
de Corte e Dobra de Ao distribudos pelo territrio brasileiro. O sistema em anlise
apresenta problemas de ineficincia na rede logstica que interliga as Usinas Siderrgicas
aos Centros de Corte e Dobra de Ao, dando origem a custos desnecessrios e atendimento
insatisfatrio.
3
Os Centros de Corte e Dobra de Ao apresentam-se como uma extenso das Usinas
Siderrgicas, medida que customizam os vergalhes produzidos por elas, de acordo com
as especificaes de cada cliente final. O sistema est estruturado da seguinte forma: doze
Usinas Siderrgicas e onze Centros de Corte e Dobra de Ao localizados no territrio
brasileiro. As tabelas a seguir apresentam a relao das localizaes das Usinas
Siderrgicas e dos Centros de Corte e Dobra de Ao.
N da Usina Cidade UF
1 Baro de Cocais MG
2 Contagem MG
3 Sapucaia do Sul RS
4 Araucria PR
5 Rio de Janeiro RJ
6 Divinpolis MG
7 So Paulo SP
8 Guarulhos SP
9 So Jos dos Campos SP
10 Simes Filho BA
11 Recife PE
12 Maracana CE
N do Centro de
Corte e Dobra
1 So Paulo SP
2 Rio de Janeiro RJ
3 Igarassu PE
4 Porto Alegre RS
5 Simes Filho BA
6 Maracana CE
7 Contagem MG
8 Biguau SC
9 Ananindeua PA
10 Araucria PR
11 Aparecida de Goinia GO
Cidade UF
. Tabela 1 Usinas Siderrgicas Tabela 2 -Centros de Corte e Dobra de Ao
Atualmente, o atendimento das necessidades de ao dos centros de corte e dobra
realizado por critrios de proximidade, no sendo levados em considerao custos de
produo, de transporte, incentivos fiscais e, sobretudo, os custos de oportunidade.
Deve-se ressaltar que, alm dos Centros de Corte e Dobra de Ao, que so clientes
internos das Usinas Siderrgicas, elas atendem clientes externos no territrio brasileiro ou
em outros pases. Portanto, imprescindvel que se estabelea um critrio racional de
alocao da demanda dos Centros de Corte e Dobra de Ao, a fim de que as Usinas
Siderrgicas possam satisfazer s necessidades dos Centros de Corte e Dobra de Ao e
aproveitar as oportunidades de demanda de seus clientes no mercado interno e no externo.
Por essa razo, apesar de o objetivo principal do trabalho ter como foco a alocao tima
dos vergalhes demandados pelos Centros de Corte e Dobra de Ao, a alocao tima dos
vergalhes e demais produtos demandados pelo mercado interno e mercado externo
tambm ser considerada pelo fato de sustentar e enriquecer os resultados do trabalho.
Tendo em vista a problemtica acima e sua importncia no desempenho do sistema,
ser proposta uma remodelagem da rede logstica que interliga os as Usinas Siderrgicas,
os Centros de Corte e Dobra de Ao, o Mercado Interno e o Mercado Externo que
compem o sistema em anlise.
1.2.2. Formulao do Problema de Pesquisa
Considerando as questes e tendncias at aqui expostas sobre a atualidade e
relevncia dos estudos sobre o papel da logstica no desempenho das empresas e
considerando as premissas de que: (1) a logstica representa uma fonte de vantagem
competitiva para as empresas; (2) decises de projeto de rede so fundamentais na
alavancagem desta vantagem competitiva atribuda logstica; a problemtica de estudo
proposta para anlise neste trabalho desdobrada no seguinte componente especfico:
4
Qual a melhor estratgia de alocao da demanda de 11 Centros de Corte e Dobra de Ao
s 12 Usinas Siderrgicas considerando-se simultaneamente a demanda do mercado interno
e do mercado externo? As questes formuladas para responder tal componente especfico
so as seguintes:
Q1 - Quais as caractersticas principais do procedimento atualmente utilizado para a
alocao da demanda dos centros de corte e dobra de ao, do mercado interno e do mercado
externo?
Q2 Quais mudanas poderiam ser feitas para otimizar a alocao da demanda dos centros
de corte e dobra de ao, do mercado interno e do mercado externo?
Q3 Quais os impactos das mudanas propostas sobre o desempenho do sistema
analisado?
1.3. OBJETIVOS DO TRABALHO
Considerando a problemtica proposta anteriormente, este trabalho tem por objetivo
identificar qual a melhor estratgia de alocao da demanda de 11 Centros de Corte e
Dobra de Ao, do mercado interno e do mercado externo s 12 Usinas Siderrgicas
distribudas pelo territrio brasileiro. A idia central a aplicao de modelos de
otimizao para apoiar as decises de alocao da demanda e contribuir para sua melhoria,
de maneira a obter ganhos de produtividade e melhorar o atendimento da demanda, tendo
como propsito conferir ao sistema uma estrutura tima para suas operaes logsticas e,
como conseqncia, garantir-lhe vantagem competitiva baseada em logstica.
1.3.1. Objetivos Especficos
Este trabalho pretende abordar as questes levantadas no item anterior com o
objetivo de:
a) Verificar as caractersticas principais do procedimento atualmente utilizado para a
alocao da demanda dos centros de corte e dobra de ao.
b) Propor uma remodelagem da rede logstica que conecta as Usinas siderrgicas aos
centros de corte e dobra de ao, ao mercado interno e ao mercado externo com o objetivo
de otimizar a alocao da demanda.
c) Mensurar os impactos das mudanas propostas na estratgia de alocao da demanda
sobre o desempenho do sistema em anlise.
1.4. SIMPLIFICAES
Em processos de modelagem, um ponto crtico a ser estabelecido por ocasio do
desenvolvimento do modelo o quo prximo da realidade este se posicionar. O nvel de
simplificao a ele imposto o que determina o seu grau de complexidade. Na
impossibilidade de captar e modelar todas as variveis envolvidas, sem que haja perda da
qualidade da deciso, algumas simplificaes fizeram-se necessrias:
(i) A produo das Usinas siderrgicas ser detalhada somente com relao
produo do vergalho, na dimenso bitola. Os demais itens produzidos sero
agrupados em famlias de produto.
5
(ii) O Mercado Interno ser representado pelas capitais brasileiras e o Mercado
Externo ser representado pelos principais Portos utilizados para exportao e
pelas capitais dos pases vizinhos.
(iii) A estrutura logstica do sistema j est definida, ou seja, a localizao das
Usinas Siderrgicas e dos Centros de Corte e Dobra de Ao fixa e j
estabelecida, cabendo analisar somente as estratgias de distribuio fsica do
produto envolvido.
(iv) Foge do escopo deste trabalho uma comparao entre estratgias de alocao de
demanda de outros sistemas envolvendo Usinas siderrgicas e centros de corte e
dobra de ao, limitando-se, somente, a determinar uma estratgia tima de
alocao dentro do sistema em anlise.
Como conseqncia dessas delimitaes, as concluses que sero obtidas no
podero ser aplicadas exatamente como aparecem neste trabalho em situaes diferentes
das fixadas nele.
2. METODOLOGIA
Sendo o objetivo do trabalho identificar a estratgia tima de alocao da demanda
de centros de corte e dobra de ao em Usinas siderrgicas, foram definidas etapas para
atingi-lo.
Primeiramente, identificou-se a necessidade de evidenciar a metodologia utilizada
para a execuo do estudo de campo e a bibliografia necessria para dar o suporte
conceitual s decises na prtica. Uma vez elaborado o modelo e revisados os estudos que,
direta ou indiretamente, abordam o objeto de estudo, visando ilustrar a sua utilizao, ser
realizada uma pesquisa de campo e, posteriormente, a anlise dos resultados. Por fim, sero
apresentadas as concluses finais e consideraes do presente trabalho, fazendo-se uma
anlise sistmica do problema. A seguir esto descritos os aspectos metodolgicos
considerados para a consecuo dos objetivos propostos do presente trabalho. Refere-se
metodologia utilizada para o delineamento da pesquisa e no desenvolvimento do modelo
conceitual para o sistema em anlise.
2.1. NATUREZA DO ESTUDO E MTODO UTILIZADO
O presente estudo caracterizado como um estudo de natureza descritiva, uma vez
que o objetivo principal descrever as principais caractersticas do sistema objeto de
estudo, analis-lo e, finalmente, estabelecer relaes entre variveis e fatos com a
finalidade de se buscar um desempenho timo, tendo como principal embasamento para a
ao a vasta gama de material terico disponvel.
Para analisar os fatos do ponto de vista emprico, para confrontar a viso terica
com os dados da realidade, torna-se necessrio traar um modelo conceitual e operativo da
pesquisa. O presente estudo fundamentado em pesquisa bibliogrfica, baseando-se em
material j elaborado, constitudo principalmente de livros e artigos cientficos. O trabalho
se prope a vincular a pesquisa terica prtica, atravs de um estudo de caso, objetivando-
se estudar profundamente um nico sistema, de maneira que seja alcanada sua
compreenso de forma detalhada e que se possa, dessa forma, otimizar seu desempenho.
6
3. PESQUISA BIBLIOGRFICA
Com o objetivo de fornecer um embasamento para parte prtica deste trabalho,
sero abordadas algumas questes-chave acerca do tema em estudo, de maneira a construir
um quadro terico de referncia.
3.1. LOGSTICA: DEFINIES E OBJETIVOS
Caso fosse vivel produzir todos os bens e servios no ponto onde eles so
consumidos ou caso as pessoas desejassem viver onde as matrias-primas e a produo se
localizassem, ento a logstica seria pouco importante. H um hiato de tempo e espao entre
matrias-primas e produo e entre produo e consumo. Vencer tempo e distncia na
movimentao de bens ou na entrega de servios de forma eficaz e eficiente a tarefa do
profissional de logstica.
Segundo Watson-Ganty (1978), o objetivo da logstica agregar bens, da fbrica
para o cliente, to economicamente quanto possvel, sujeito s restries de atendimento e
manter nveis de estoque adequados para atender a demanda dos clientes. Tambm uma boa
definio dada por Magee (1977): A administrao logstica industrial visa maximizar o
valor econmico dos produtos ou materiais tendo-os disponveis, a um preo razovel, onde
e quando houver procura. Essas definies deixam claro que a utilidade de um produto
no depende s da forma do produto, mas tambm onde ele se encontra, e do fato de l
estar quando for necessrio.
Deve-se salientar que alm de satisfazer a demanda, providenciando a mercadoria
ou servio certo, no lugar certo, no tempo certo e nas condies desejadas, a logstica
tambm deve estar alinhada com a estratgia competitiva da empresa, desempenhando suas
atividades ao menor custo possvel. Segundo Gopal (1993), A estratgia logstica deve ser
consistente com os objetivos e estratgias organizacionais e deve ser desenvolvida
conjuntamente a ela, e no ser apenas um adjunto das estratgias de marketing e produo.
Bowersox (1996) retrata bem esse aspecto: o principal desafio da logstica balancear as
expectativas relacionadas ao nvel de servio e gastos, de maneira a alcanar os objetivos
do negcio. Portanto, a chave para alcanar a liderana logstica liderar a arte de casar a
competncia do negcio com as expectativas e demandas centrais dos consumidores.
3.2. O PLANEJAMENTO LOGSTICO
O planejamento logstico se prope a responder questes como: o que, como,
quando e onde produzir e distribuir. Em outras palavras, ele envolve a determinao do
nmero, tamanho e localizao das instalaes; a designao dos produtos e clientes a estas
instalaes, em termos de origens e destinos; os nveis de estoques intermedirios e finais;
o tipo e os modais de transporte; como o transporte vai ser feito em termos de ligaes,
freqncias, tipos de veculos, dentre outras decises. O objetivo do planejamento
encontrar a melhor forma de distribuir os produtos da fbrica para os clientes, ou seja, a
otimizao da rede de logstica.
A importncia do planejamento de rede logstica tem aumentado muito por causa
dos impactos econmicos e das melhorias nos nveis de servio que um bom planejamento
pode proporcionar, principalmente ao meio empresarial. Para a gesto logstica, o processo
de planejamento gira em torno de um tringulo de decises de localizao, de estoques e de
transportes, com servios ao cliente sendo resultado dessas decises.
7
3.3. MODELAGEM DE REDES LOGSTICAS
Segundo Shorten, Pfitzmann e Mueller (2005), avaliar a modelagem da rede
logstica pode ser a chave da lucratividade e, at mesmo, da sobrevivncia de uma empresa.
Segundo os autores, as avaliaes tm se tornado cada vez mais comuns medida que a
modelagem da rede logstica vem se tornando um imperativo econmico e estratgico.
Salienta-se que olhar as empresas como um sistema integrado de aes dirigidas a
objetivos, ou seja, v-las como uma rede integrada, potencializa o impacto competitivo de
suas aes. Segundo Alvarenga e Novaes (1994), mais importante do que melhorar cada
subsistema individualmente, muito mais proveitoso, em termos globais, pensar no sistema
como um todo e, no caso da logstica, o enfoque sistmico vital. Para Fleury, a logstica
deve ser tratada como um conjunto de componentes interligados, trabalhando de forma
coordenada, com o objetivo de atingir um objetivo comum. Um movimento em qualquer
um dos componentes de um sistema tem efeito sobre outros componentes do mesmo
sistema. A tentativa de otimizao de cada um dos componentes separadamente no leva
otimizao de todo o sistema, mas pelo contrrio, leva subotimizao.
A prioridade reservada para o desenvolvimento de viso logstica alinhada com a
realidade de mercado , cada vez mais, sustentada pela contribuio que o desempenho
superior da logstica pode dar ao sucesso estratgico e pela possibilidade de alcanar
vantagem competitiva sustentvel. Portanto, o descasamento entre estratgia logstica e
estratgia empresarial apresenta-se como um fator decisivo para potencializar o fracasso
empresarial.
3.4. MODELO CONCEITUAL
Para a anlise dos fatos do ponto de visa prtico, para confrontar a viso terica com
os dados da realidade, torna-se necessrio traar um modelo conceitual e operativo da
pesquisa. Dada a complexidade e os trade-offs envolvidos nas operaes logsticas do
sistema que objeto de estudo deste trabalho, o nico caminho prtico em direo aos
objetivos do trabalho aquele que prope a elaborao de um modelo conceitual da
situao real, com o propsito de facilitar o planejamento do trabalho e, posteriormente, a
realizao das anlises.
4. ELABORAO DO MODELO
Segundo Chopra e Meindl (2003), em concordncia com Bender (1983), o modo
mais eficiente de resolver um problema de alocao descrever o sistema em anlise como
um modelo de otimizao de rede. Justifica-se, dessa forma, a elaborao de um modelo
para o problema exposto no presente artigo.
Segundo Shapiro (1984) e Bender (1983), uma rede consiste em um certo nmero
de ns, com certos pares de ns interligados por um ou mais arcos, os quais representam
movimentao de recursos dentro do sistema em anlise. A aplicao da definio de rede
na problemtica exposta no presente artigo resulta na seguinte configurao: os arcos so
representados pelas vias de transporte, os ns so representados pelas Usinas Siderrgicas,
pelos Centros de Corte e Dobra de Ao, pelo Mercado Interno e pelo Mercado Externo.
8
Ressalta-se que o fluxo que ocorre entre os ns traduzido pela movimentao de
Vergalhes e demais produtos. O diagrama abaixo descreve o fluxo entre ns:
Figura 1 Descrio do Fluxo
Segundo Bender (1983), os ns e os arcos podem ser caracterizados por atributos
associados a valores. Os atributos associados aos ns e aos arcos do sistema objeto de
estudo do trabalho so representados na tabela abaixo:
Atributos
- Custos Fixos e Custos Variveis
- Restries de Capacidade
- Restries de Atendimento da Demanda
- Custos de Transporte
- Demais custos relacionados com a combinao origem-destino considerada
Ns
Arcos
Tabela 3 Atributos Tpicos
4.1. ESTRUTURA DA SOLUO
Cada Unidade Industrial i = 1,2,...,I possui uma capacidade de produo CP
i
, alm
de um custo varivel de produo por tonelada produto do tipo k CV
ki
e um custo fixo de
produo CF
i
associados a ela.
A cada Centro de Corte e Dobra de Ao j = 1,2,..,J est associada uma demanda
D
jk
, que corresponde ao volume de vergalho cortado e dobrado do tipo k demandado pelo
mercado.
Alm disso, em alguns pontos representativos do Mercado Interno e em alguns
Portos disponveis j = 1,2,..,J, ser alocada a demanda de produto do tipo k correspondente
demanda D
jk
do mercado interno e externo, respectivamente.
Ao fluxo de produtos entre uma Unidade Industrial i e um Centro de Corte e Dobra
de Ao ou Mercado Interno ou Mercado Externo j est associado um custo de transporte
por tonelada do produto CT
ij
. Da mesma forma, ao fluxo de vergalhes entre um Centro de
Corte e Dobra de Ao j e o Mercado m est associado um custo de transporte por tonelada
de vergalho CT
jm..
A representao grfica do problema encontra-se ilustrada na figura 2 na figura 3.
Centro de Corte e
Dobra de Ao
Unidade Industrial
Mercado Interno Mercado Externo
Mercado de Vergalhes Cortados e Dobrados
9
Fluxo de Produtos
Centro de Corte e Dobra de Ao
Mercado Interno
Mercado Externo
Fluxo de Vergalhes
Centro de Corte
e Dobra de Ao
Mercado
Figura 2
Figura 3
4.2. MODELO MATEMTICO
Dado que o objetivo deste trabalho no o estudo e a apresentao de algoritmos, e
sim a modelagem matemtica para o tratamento de um problema especfico, optou-se, com
base nas consideraes acima, pela apresentao e detalhamento de um modelo matemtico
de programao linear inteira - mista, com o objetivo de determinar a alocao tima da
demanda atravs da minimizao de uma funo de custos de produo e de transporte. As
caractersticas e as condies do modelo so apresentadas a seguir.
4.2.1. HIPTESES DE MODELAGEM
A modelagem de rede logstica de um sistema composto por Usinas Siderrgicas,
Centros de Corte e Dobra de Ao, Mercado Interno e Mercado Externo pressupe algumas
hipteses:
- H um limite de capacidade de produo em cada Usina Siderrgica (i) que deve ser
respeitado;
- A quantidade total de produto (D
jk
) demandada pelos Centros de Corte e Dobra de Ao,
pelo Mercado interno ou pelo Mercado Externo pode ser atendida por mais de uma Usina
Siderrgica (i);
- As peculiaridades produtivas existentes em cada Usina Siderrgica (i) devem ser
respeitadas (as Usinas Siderrgicas tm mix de produo diferentes);
- No h restrio de capacidade de transporte para o abastecimento dos Centros de Corte
e Dobra de Ao, do Mercado Interno, do Mercado Externo (j) e do Mercado (m).
4.2.2. ESPECIFICAO DO MODELO
O modelo a ser utilizado diz respeito minimizao de uma funo-objetivo
representativa dos custos de produo e de transporte de produtos elaborados pelas Usinas
siderrgicas e demandados pelos Centros de Corte e Dobra de Ao, pelo Mercado Interno e
Mercado Externo. Os principais ndices, parmetros e variveis respeitam a seguinte
nomenclatura:
- ndices:
ndice Descrio Intervalo Valor
i Usinas Siderrgicas (1,...,I) I= 12
j Centros de Corte e Dobra de Ao, Mercado Interno e Mercado Externo (1,...,J) J= 57
m Mercado (1,...,M) M=27
k Tipo de Produto (1,...,K) K= 66
Usina Siderrgica
i
j
j m
10
- Parmetros:
CV
ki
= Custo Varivel de Produo associado ao produto k produzido na Usina
Siderrgica i (R$ / t de produto)
CV
kj
= Custo Varivel do Servio associado ao vergalho k beneficiado pelo Centro
de Corte e Dobra de Ao j (R$ / t de vergalho)
CF
i
= Custo Fixo de Produo associado Usina Siderrgica i (R$)
CF
j
= Custo Fixo de Beneficiamento associado ao Centro de Corte e Dobra de Ao j
(R$)
CT
ijk
= Custo de Transporte do produto k da Usina Siderrgica i para o Centro de
Corte e Dobra de Ao / Mercado Interno/ Mercado Externo j (R$ / t)
CT
jmk
= Custo de Transporte do produto k do Centro de Corte e Dobra de Ao j para
o Mercado m (R$ / t)
D
jk
= Demanda do Centro de Corte e Dobra de Ao / Mercado Interno / Mercado
Externo j associado ao produto k (t)
D
mk
= Demanda do Mercado m associado ao vergalho k (t)
t
ki
= Produo Horria do Produto k na Usina Siderrgica i (t/ h)
t
kj
= Produo Horria do Produto k no Centro de Corte e Dobra de Ao j (t / h)
CP
i
= Capacidade de Produo da Usina Siderrgica i (h /ms)
CP
j
= Capacidade de Beneficiamento do Centro de Corte e Dobra de Ao j (h /ms)
- Variveis de Deciso:
Y
i
= 1 se a Usina Siderrgica i atender ao Centro de Corte e Dobra de Ao /
Mercado Interno / Mercado Externo j
= 0 caso contrrio
Y
j
= 1 se o Centro de Corte e Dobra de Ao j atender ao Mercado m
= 0 caso contrrio
Q
kij
= Quantidade de produto do tipo k produzido pela Usina Siderrgica i para
atender o Centro de Corte e Dobra de Ao / Mercado Interno / Mercado Externo j
Q
kjm
= Quantidade de vergalho do tipo k beneficiado pelo Centro de Corte e Dobra
de Ao j para atender ao Mercado m
A especificao das equaes e inequaes pertinentes apresentada no anexo 1.
5. SITUAO ATUAL
O primeiro cenrio simulado refere-se aos dados histricos do sistema. Os
resultados desse cenrio serviro como base de validao do modelo e base de comparao
para os demais cenrios simulados. O fluxograma abaixo foi elaborado com o objetivo de
ilustrar as vrias etapas do processo produtivo.
11
Figura 4- Fluxograma do Processo Produtivo
A primeira etapa consiste na produo de Ferro-Gusa e de Ferro-Esponja, atravs
dos Altos Fornos e da Reduo Direta, respectivamente. Esta etapa tem como principais
matrias-primas: minrio de ferro, coque, carvo, no caso da produo do Ferro-Gusa, e
minrio de ferro e gs natural, no caso da produo do Ferro-Esponja.
A segunda etapa consiste na produo do Ao, atravs das Aciarias. A produo do
Ao realizada atravs do Ferro-Gusa e do Ferro-Esponja, obtidos na etapa descrita
anteriormente, Ligas, Sucata e Sucata de Gusa, comprados de terceiros.
A terceira etapa envolve a laminao do Ao e produo dos produtos derivados do
Ao: Vergalho, Fio Mquina, Cantoneira, Redondo, Chato, Perfil e Quadrado.
Os acabamentos e as dobras constituem a quinta etapa. Nesta etapa, alguns tipos de
Vergalhes so endireitados ou dobrados, conforme a necessidade.
Como pode ser observado no fluxograma, os produtos provenientes das etapas de
laminao, trefila, acabamento e dobra direcionam-se para o Mercado Interno, Mercado
Externo e para os Centros de Corte e Dobra de Ao, no caso dos Vergalhes e Estribos. Os
Centros de Corte e Dobra de Ao, aps receberem os vergalhes, realizam seu
beneficiamento e, por final, os distribuem para o mercado interno.
5.1. ASPECTOS OPERACIONAIS DOS PROCESSOS PRODUTIVOS
Sero descritos os aspectos operacionais mais relevantes dos processos produtivos
que compem as Usinas siderrgicas.
12
- Capacidades: As capacidades de cada tipo de processo sero organizadas por
bounds, os quais correspondem a regimes de produo ou nmero de turmas em operao.
No modelo em anlise, a capacidade ser dividida em trs bounds: Primeiro Bound
(Capacidade com regime de produo de uma turma); Segundo Bound (Capacidade com
regime de produo de duas turmas); Terceiro Bound (Capacidade com regime de produo
de trs turmas).
- Indicadores Operacionais: Os indicadores operacionais escolhidos como os
mais relevantes analise dos processos produtivos foram o rendimento operacional e a
produo horria.
- Custos: Os custos dos Processos Produtivos das Usinas siderrgicas so
compostos pelos seguintes itens: Custo do Emprego dos Insumos, Custo com Redutores,
Custos Operacionais Fixos e Custos Operacionais Variveis.
5.1.1. DEMAIS ASPECTOS
- Linha de Produtos: A gama de produtos cuja alocao tima objetivo do
presente trabalho composta pelos vergalhes do tipo Ca25, Ca50 e Ca60. Deve-se
salientar, entretanto, que a alocao tima dos vergalhes sem a considerao do restante
do sistema no qual eles esto inseridos gera resultados sub-timos. Com a finalidade de
realizar uma anlise completa, abrangendo todo o sistema e resultando na otimizao
global, justifica-se a necessidade de ampliar o conjunto de produtos considerados, ainda
que objetivo central esteja focado na alocao tima dos vergalhes.
- Demanda: O sistema desenvolvido prope-se a analisar toda a extenso territorial
brasileira e os principais mercados internacionais, evitando, assim, que anlises em regies
limitadas venham a propor uma configurao subotimizada. O mercado interno ser
representado por um conjunto formado pelas capitais brasileiras, pressupondo que cada
uma destas capitais, ou cidades-plo, represente as demais cidades que se situam em sua
redondeza. Deve-se ressaltar que, alm do mercado externo via porto, alguns pases
limtrofes tambm esto representados no modelo atravs de suas capitais. A quantidade de
produto, por ponto de demanda, foi calculada pela demanda mdia entre os meses de
Janeiro e Setembro de 2005.
- Transporte de Insumos e Produtos Acabados: Os custos de transporte so,
normalmente, os principais custos logsticos presentes em uma rede logstica. Alm disso,
ressalta-se que o custo tonelada / quilmetro apresenta grandes variaes dependendo do
modal que est sendo usado. A partir da anlise da tabela abaixo, extrada do Boletim
Estatstico da Confederao Nacional do Transporte (Ano de 2004), o modal rodovirio foi
escolhido para a anlise do caso apresentado devido sua participao significativa no
transporte de cargas em relao aos demais modais.
Tabela 4 Modais
13
- Incentivos Fiscais: Devido ao fato de algumas Usinas siderrgicas situarem-se em
regies favorecidas por incentivos fiscais, de extrema importncia que estes incentivos
sejam considerados no modelo em anlise medida que estes afetam diretamente a
competitividade da regio. Os incentivos fiscais considerados no modelo so: FUNDOPEM
(Rio Grande do Sul); DESENVOLVE (Bahia); PRODEPE (Pernambuco) e FDI/PROVIN
(Cear). Deve ser ressaltado que os incentivos FUNDOPEM E DESENVOLVE exigem, no
caso de siderurgias, uma quantidade mnima de produo para que haja deduo: 23.620
toneladas, no caso do FUNDOPEM, e 15.000 toneladas, no caso do DESENVOLVE.
Portanto, o incentivo para essas regies somente ser considerado quando as Usinas
siderrgicas produzirem quantidades superiores s mnimas estabelecidas.
6. SOLUO E ANLISE DOS RESULTADOS
6.1. DESENVOLVIMENTO DO MODELO EM SOFTWARE DE OTIMIZAO
Para resolver o problema, foi utilizada a verso 7.0.1.01 do software SynQuest
Supply Chain Design Engine (BENDER Management Consultants Inc.). Trata-se de um
sistema de modelagem integrado utilizado para otimizar estratgias logsticas atravs da
gerao de modelos customizados baseados em programao linear inteira mista. O
software possui um algoritmo de programao linear (CPLEX) que possibilita a otimizao
da infra-estrutura disponvel. O modelo foi processado em um microcomputador Pentium
IV (Intel) 2.26 GHz com 256 MB de Memria RAM. A entrada de dados foi feita atravs
de planilhas eletrnicas (Microsoft Excel 2000) e atravs do software, fazendo com que a
interface seja bastante amigvel.
6.2. SITUAO PROPOSTA: OTIMIZAO DA ALOCAO DA DEMANDA
Para que se possa ter uma maior confiabilidade no modelo, alm da simulao com
os dados da situao atual, foram elaborados dois cenrios com base em situaes que
podem ocorrer na prtica. Tanto as alteraes na modelagem quanto as principais
informaes geradas pela resoluo do modelo aparecem em destaque a seguir.
O primeiro cenrio gerado foi uma simulao da situao atual. Os critrios
utilizados para a alocao da demanda, atualmente, so pouco integrados e no visam
otimizao do processo. O segundo cenrio simulado otimiza a alocao da demanda do
sistema em anlise, no garantindo o atendimento de toda a demanda do mercado externo.
Neste cenrio, a demanda do mercado externo considerada como demanda SPOT, ou seja,
o sistema livre para atender somente s demandas que forem consideradas rentveis. A
soluo obtida apresenta uma sensvel reduo de custos em relao ao sistema utilizado
atualmente. O terceiro cenrio simulado otimiza a alocao da demanda do sistema em
anlise, considerando a demanda do mercado externo como demanda estrutural, fazendo
com que o sistema tenha que atender toda a demanda do mercado externo. Este cenrio ser
considerado como base de comparao em relao situao atual medida que,
atualmente, a maior parte da demanda do mercado externo tratada como demanda
estrutural. A soluo obtida apresenta um pequeno aumento de custos em relao ao
cenrio simulado anteriormente, pois o sistema obrigado a atender toda a demanda do
mercado externo, seja ela rentvel ou no. A tabela abaixo sintetiza o resultado da
simulao.
14
Cenrio Descrio
Situao Atual Critrios de alocao pouco integrados, no visando otimizao do processo
Soluo tima Sem Restries Demanda do mercado externo considerada como demanda SPOT
Soluo tima Com Restries Demanda do mercado externo considerada como demanda Estrutural
Resultados Situao Atual Soluo tima Sem Restries Soluo tima com Restries
Demanda (toneladas) 287.886 287.886 287.886
Custo Operacional Fixo (R$) 19.991.383 19.356.986 19.701.712
Custo Operacional Varivel (R$) 15.145.298 14.615.681 14.666.543
Custo de Transporte (R$) 42.774.136 40.325.204 40.553.256
Custo Total (R$) 77.910.817 74.297.871 74.921.511
Lucro (R$) 50.618.125 53.867.448 53.581.408
Tabela 5 Sntese do Resultado Final do Modelo
Comparando o segundo e o terceiro cenrio, fazendo a diferena entre os lucros dos
cenrios e dividindo a diferena pela demanda no atendida do mercado externo (832
toneladas) chega-se concluso de que o atendimento, sem restries, da demanda do
mercado externo custa R$ 312 / t para a empresa.
6.3. COMPARAO E ANLISE
O quadro comparativo abaixo ilustra a diferena de custos entre a situao atual e a
situao proposta (terceiro cenrio).
Situao Atual Situao Proposta Diferena Diferena %
Custo Operacional Fixo (R$) 19.991.383 19.701.712 -289.671 -1%
Custo Operacional Varivel (R$) 15.145.298 14.666.543 -478.755 -3%
Custo de Transporte (R$) 42.774.136 40.553.256 -2.220.880 -5%
Custo Total (R$) 77.910.817 74.921.511 -2.989.306 -4%
Lucro (R$) 50.618.125 53.607.432 2.989.306 6%
Tabela 6 Resumo Custos Totais
Analisando o quadro acima, possvel inferir:
- H uma reduo de custos bastante significativa tanto em termos absolutos (3,0
Milhes de Reais), quanto em termos relativos (4%).
- Todos os custos so reduzidos sensivelmente, com destaque para o custo de
Transporte (74% da reduo total)
- Em ambos os casos, os custos de transporte representam a maior parcela dos
custos totais: 55% na situao atual e 54% na situao proposta.
A partir do exposto, as principais consideraes a serem feitas so:
- A reduo dos custos operacionais fixos deve-se, sobretudo, desativao de
algumas Usinas siderrgicas e centros de corte e dobra de ao que se mostraram
improdutivos.
- A reduo dos custos operacionais variveis deve-se alocao da demanda em
Usinas siderrgicas e Centros de Corte e Dobra de Ao mais eficientes.
- A reduo dos custos de transporte deve-se alocao da demanda em pontos
estratgicos para o atendimento do mercado, o que decisivo para os resultados globais do
sistema, pois o custo de transporte representa cerca de 55% do custo total, conforme
apresentado nos grficos acima.
15
- Os incentivos fiscais contriburam com uma reduo de custos em R$ 600.000,
representando 20% da reduo total dos custos. Os incentivos no so considerados na
situao atual, ignorando-se, portanto, vantagens competitivas significativas.
- A variao, em termos absolutos, do lucro da situao proposta em relao
situao atual igual variao do custo total de uma situao em relao outra, medida
que o preo dos produtos foi mantido. Alm disso, a variao do Lucro da situao
proposta em relao situao atual, em termos percentuais, de 6% , ou seja, um valor
bastante significativo.
- Calculando a diferena entre os custos dos cenrios e dividindo esta diferena pela
demanda atendida (287.886 toneladas) chega-se concluso de que o atendimento, a partir
do modelo proposto gera uma economia para o sistema de R$ 10,38 / t.
Ressalta-se que toda a demanda do mercado foi atendida pelo sistema, conforme
explicitado na funo objetivo.
7. CONCLUSES
7.1. ANLISE DO MODELO
Este trabalho permitiu constatar que muitos dos complexos problemas enfrentados
pelos gestores da rea de logstica e, em particular, os problemas associados modelagem
de redes, podem ser solucionados a partir da utilizao de conceitos e mtodos adequados,
sendo possvel construir um modelo de otimizao suficientemente representativo do
problema em questo, o qual pode ser resolvido atravs do ambiente de planilha eletrnica.
O resultado gerado pela otimizao adequado proposta elaborada e fornece
solues robustas e viveis operacionalmente. Alm disso, de acordo com o resultado da
simulao realizada, a reduo de custos mostrou-se significativa e passvel de implantao
imediata, dada a no necessidade de investimentos adicionais j que o modelo elaborado
considera as restries da infra-estrutura existente atualmente.
7.2. POSSVEIS EXTENSES
Os principais fatores no contemplados, que poderiam ser includos na lgica do
modelo seriam: Nveis de servio associados cada tipo de produto; Estoques de matrias-
primas, produtos intermedirios e produtos acabados; Adio de um fator sazonal
demanda, realizando vrias simulaes e no se atendo, simplesmente, anlise esttica.
16
8. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ALVARENGA, A. C.; NOVAES, A. G. N. Logstica Aplicada: Suprimento e
Distribuio Fsica. So Paulo: Pioneira, 1994. 194p.
BALLOU, R. H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos: Planejamento,
Organizaao e Logstica Empresarial. Porto Alegre: Bookman, 2001. 532p.
BALLOU, R. H. Logstica Empresarial: Transportes, Administrao de Materiais
e Distribuio Fsica. So Paulo: Atlas, 1993. 392p.
BENDER, P.S. Resource Management: An Alternative View of The Management
Process. New York: Wiley, 1983. 229p.
BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J. Logistical Management: The Integrated Supply
Chain Process. New York: McGraw-Hill, 1996. 730p.
CHOPRA, S.; MEINDL, P. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos:
Estratgia, Planejamento e Operao. So Paulo: Prentice Hall, 2003. 465p.
CHRISTOPHER, M. Logstica e gerenciamento da cadeia de suprimentos. So
Paulo: Pioneira, 1997. 240p
DEMO, P. Metodologia do Conhecimento Cientfico. So Paulo: Atlas, 2000.
FLEURY, P.F.; WANKE, P.; FIGUEIREDO; K.F. Logstica Empresarial: a
perspectiva brasileira. So Paulo: Atlas, 2000. 372p.
GIGCH, J. P. V. System Design Modeling and Metamodeling. New York:
Plenum Press, 1991.
GIL, A.C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. So Paulo: Atlas, 2002.
GOPAL, C. Integrated Distribution Management: Competing on Customer
Service, Time and Cost. MCGraw-Hill Trade, 1993. 270p.
LAMBERT, D.M.; STOCK, J.R. Strategic logistics management. Boston: Irwin,
1992.862p.
LAMBERT, D.M.; STOCK, J.R.; ELLRAM, L.M. Fundamentals of logistics
management. Singapure: Irwin/McGraw-Hill, 1998. 611p.
MAGEE, J. F. Logstica Industrial: anlise e administrao dos sistemas de
suprimento e distribuio. So Paulo: Pioneira, 1977. 350p.
Formatados: Marcadores e
numerao
17
MARTINS, G. A. Manual para Elaborao de Monografias e Dissertaes. So
Paulo: Atlas, 2002. 134p.
MATTAR, F. N. Pesquisa de Marketing. So Paulo: Atlas, 2001.275 p.
NOVAES, A.G. Logstica e gerenciamento da cadeia de distribuio. Rio de
Janeiro: Campus, 2001. 410p.
POIST, R. Evolution of Conceptual Approaches to Designing Business Logistics
Systems.Transportation Journal, 1994.
ROSS, A.; VENKATARAMANAN, M.A.; ERNSTBERGER, K.W. Reconfiguring
the Supply Network Using Current Performance Data. Decision Sciences-USA, 1998.
21p.
SELLTIZ, C et al. Mtodos de Pesquisa nas Relaes Sociais. So Paulo, 1959.
SHAPIRO, R. D., Optimization Models for Planning and Allocation: Text and
Cases in Mathematical Programing. New York: Wiley, 1984. 650p.
SHORTEN, D.; PFITZMANN, M.; MUELLER, C. Designing the Factory
Footprint for Competitive Advantage. Booz Allen Hamilton, 2005. 7p.
WATSON-GANTY, C., Localizao de Centros de Distribuio, Dissertao de
Mestrado. EPUSP, 1978.
18
ANEXO 1
FUNO-OBJETIVO
A modelagem para determinar a melhor estratgia da alocao da demanda dos
Centros de Corte e Dobra de Ao, do Mercado Interno e do Mercado Externo s Usinas
Siderrgicas utiliza uma funo-objetivo relacionada com os benefcios econmicos
gerados por sua operao expressos em termos monetrios. Essa funo objetivo visa a
alocao da demanda de forma a minimizar o Custo Total de Produo e Transporte.
(1) Funo-Objetivo:
+ + + + + =
j m k
kjm jmk
j i i j k j k i
kij kj kij ijk
k j
kij ki j j i
i
i
Q CT Q CV Q CT Q CV CF Y CF Y MinZ ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
A funo-objetivo (1) a ser minimizada composta de trs parcelas de custo: custo
de produo, custo de servio e custo de transporte. A parcela de custo de produo
dividida em uma parcela de custos variveis de produo, associados produo de uma
tonelada de produto do tipo k, e uma parcela de custos fixos associados a determinada
Unidade Industrial i. A parcela de custo de servio dividida em uma parcela de custos
variveis de servio, associados ao beneficiamento de uma tonelada de vergalho do tipo k,
e uma parcela de custos fixos associados a um determinado Centro de Corte e Dobra de
Ao j. A parcela de custo de transporte dividida em uma parcela de custos de transporte
entre uma Unidade Industrial i e um Centro de Corte e Dobra de Ao / Mercado Interno /
Mercado Externo j e uma parcela de custo de transporte entre um Centro de Corte e Dobra
de Ao e um determinado Mercado m.
RESTRIES
O modelo considera como restries as limitaes operacionais do sistema e os
conceitos inerentes de um sistema logstico. A seguir apresentado o conjunto de restries
do modelo.
=
j
mk kjm
D Q
k
i
j
ki kij
CP t Q
k
j
i
kj kjm
CP t Q
(3)
(2)
19
Y
j =
0 Q
kij
0 Q
kjm
0 se
=
j k
kij
Q 0
1 se
>
j k
kij
Q 0
0 se
=
i k
kjm
Q 0
1 se
>
i k
kjm
Q 0
- Restrio de Demanda: A equao 2 garante o atendimento completo da demanda
do Mercado Interno, Mercado Externo e Mercado de Vergalhes Cortados e Dobrados,
medida que a quantidade produzida pela Unidade Industrial i e beneficiada pelo Centro de
Corte e Dobra de Ao j corresponde respectiva quantidade demandada.
- Restrio de Oferta: As duas inequaes 3 consideram a limitao da soma da
produo dos tipos k de produto pela Unidade Industrial i para atender ao Centro de Corte e
Dobra de Ao / Mercado Interno / Mercado Externo j pela capacidade instalada da Unidade
Industrial i e a limitao da soma do beneficiamento dos tipos k de vergalho pelos Centros
de Corte e Dobra de Ao j para atender ao Mercado m pela capacidade instalada no Centro
de Corte e Dobra de Ao j.
- Restrio de No Negatividade: As duas inequaes 4 indicam que as variveis de
deciso Q
kij
e Q
kjm
no podem assumir valores negativos.
- Binrias: A equao 5 indica que as variveis de deciso Y
ij
e Y
jm
so binrias, ou
seja, somente podem assumir os valores 0 ou 1.
(4)
Y
i =
(5)
20
Você também pode gostar
- Apostila Processo DecisórioDocumento58 páginasApostila Processo DecisórioFernanda100% (1)
- Livro Denis Alcides Rezende 3 Ed Eng Software e Sistemas Informacao PDFDocumento285 páginasLivro Denis Alcides Rezende 3 Ed Eng Software e Sistemas Informacao PDFMarcilio Meira0% (3)
- Manual de Terraplenagem - EquipamentosDocumento151 páginasManual de Terraplenagem - EquipamentoschipsoyoAinda não há avaliações
- Exercício MetasDocumento11 páginasExercício MetasKarina das Neves100% (1)
- Didática Do Ensino ReligiosoDocumento42 páginasDidática Do Ensino ReligiosoSilvio Jardim Rocha100% (1)
- 5W2HDocumento11 páginas5W2HThiago Almeida Danielle CarvalhaesAinda não há avaliações
- Gestão de Projetos PúblicosDocumento207 páginasGestão de Projetos PúblicosThiago Laurindo 2Ainda não há avaliações
- Guia de Boas Praticas para o Turismo SustentavelDocumento136 páginasGuia de Boas Praticas para o Turismo SustentavelFernanda AragãoAinda não há avaliações
- Aula 3 Planeamento Fisico de Uma UANDocumento43 páginasAula 3 Planeamento Fisico de Uma UANIndra CleidAinda não há avaliações
- Alfa - Módulo 17Documento18 páginasAlfa - Módulo 17Mackson SantosAinda não há avaliações
- Alfa - Módulo 17Documento18 páginasAlfa - Módulo 17Mackson SantosAinda não há avaliações
- Formulario Desistência RefúgioDocumento1 páginaFormulario Desistência RefúgioMackson SantosAinda não há avaliações
- Exercicios Propriedades Do Carbono e HidrocarbonetosDocumento14 páginasExercicios Propriedades Do Carbono e HidrocarbonetosMackson Santos100% (1)
- Caderno Do Protagonista - Projeto de Vida - 2 Ano - 1 SemestreDocumento19 páginasCaderno Do Protagonista - Projeto de Vida - 2 Ano - 1 SemestreJuliana ConceiçãoAinda não há avaliações
- Portaria #54, de 1º de Abril de 2020 - Portaria #54, de 1º de Abril de 2020 - Dou - Imprensa NacionalDocumento15 páginasPortaria #54, de 1º de Abril de 2020 - Portaria #54, de 1º de Abril de 2020 - Dou - Imprensa NacionalTamires Mascarenhas AmaralAinda não há avaliações
- Ass AdmDocumento16 páginasAss AdmRaimundo EvaldoAinda não há avaliações
- Questionario Fixacao - GabaritoDocumento21 páginasQuestionario Fixacao - GabaritoFigurinhasCascavel60% (5)
- Manual de FunçõesDocumento46 páginasManual de FunçõesdanielbringuesAinda não há avaliações
- Regimento Interno CodhabDocumento39 páginasRegimento Interno CodhabJason SmithAinda não há avaliações
- Trilha 2 - Slides - Processos AntecionaisDocumento16 páginasTrilha 2 - Slides - Processos AntecionaisAna Santos FreitasAinda não há avaliações
- Disciplina de Empreendedorismo para A Educação ProfissionalDocumento36 páginasDisciplina de Empreendedorismo para A Educação ProfissionalFelipe SátiroAinda não há avaliações
- ApostilaPGe GH Jan04Documento56 páginasApostilaPGe GH Jan04Costa VagnerAinda não há avaliações
- Tainá Freitas BrandãoDocumento110 páginasTainá Freitas BrandãoClaiton GreinerAinda não há avaliações
- Prof - Matematica Vun Sao CarlosDocumento12 páginasProf - Matematica Vun Sao CarlosRodrigoAinda não há avaliações
- Assistência Social No BrasilDocumento35 páginasAssistência Social No BrasilIsak de CastroAinda não há avaliações
- Orçamento Empresarial PsDocumento27 páginasOrçamento Empresarial PsSabino Sacahala SacahalaAinda não há avaliações
- Manutenção Ramo Alimentício PDFDocumento14 páginasManutenção Ramo Alimentício PDFJarbas GuedesAinda não há avaliações
- Teorias Da Administração I - Livro BSIDocumento172 páginasTeorias Da Administração I - Livro BSIGeorge FelixAinda não há avaliações
- Módulo 1Documento43 páginasMódulo 1Lorena ReisAinda não há avaliações
- Ferramentas de Gestão Da Qualidade - Diagrama de AfinidadesDocumento4 páginasFerramentas de Gestão Da Qualidade - Diagrama de AfinidadesGerisval Alves PessoaAinda não há avaliações
- Apostila Orcamento EmpresarialDocumento46 páginasApostila Orcamento EmpresarialdanielamuryAinda não há avaliações
- Cerebro MestreDocumento4 páginasCerebro MestreArinda DorrAinda não há avaliações
- Planejamento Estratégico - Prof Alecsandra VenturaDocumento18 páginasPlanejamento Estratégico - Prof Alecsandra VenturaAlecsandra VenturaAinda não há avaliações
- Questões - Padrão ENADE PDFDocumento2 páginasQuestões - Padrão ENADE PDFLuana PatríciaAinda não há avaliações