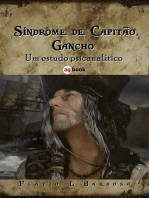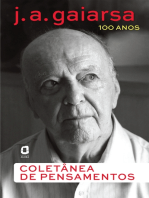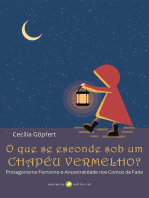Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Revista Medo PDF
Revista Medo PDF
Enviado por
MarcioMarkendorfTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Revista Medo PDF
Revista Medo PDF
Enviado por
MarcioMarkendorfDireitos autorais:
Formatos disponíveis
LEITURASCOMPARTILHADAS
E X E M P L A R A V U L S O R $ 1 0 , 0 0 | D I S T R I B U I O G R A T U I T A P A R A A S E S C O L A S D O L E I A B R A S I L | F A S C C U L O 6 | O U T U B R O D E 2 0 0 2 | W W W . L E I A B R A S I L . O R G . B R
MEDO
PREPARE- SE!
VOC VAI ENTRAR
EM TERRENO PERIGOSO.
TRATAMOS DOS MAI S VARI ADOS
SI NTOMAS DO MEDO.
VI SI TAMOS A LI TERATURA E O CI NEMA.
BUSCAMOS TODAS AS SUAS CAUSAS:
ESCURI DO, VI OLNCI A, PERDA E MORTE.
CHEGAMOS AO PRAZER DO MEDO
E AO MEDO DO PRAZER.
COMECE J! NO H NADA A TEMER.
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
2
Edi t or i al Edi t or i al Edi t or i al Edi t or i al Edi t or i al p.3
Beni t a Pr i et o Beni t a Pr i et o Beni t a Pr i et o Beni t a Pr i et o Beni t a Pr i et o
O fascni o que as hi str i as de ter r or e mi str i o exer cem sobr e ns. p. 4
Lei l a Bor ges de Ar Lei l a Bor ges de Ar Lei l a Bor ges de Ar Lei l a Bor ges de Ar Lei l a Bor ges de Ar aj o aj o aj o aj o aj o
Mar y Shel l ey e a l i ter atur a fantsti ca. p. 8
Char l es F Char l es F Char l es F Char l es F Char l es Fei t osa ei t osa ei t osa ei t osa ei t osa
Como o medo pode ser sbi o. p. 10
T TT TTat i ana Bel i nk y at i ana Bel i nk y at i ana Bel i nk y at i ana Bel i nk y at i ana Bel i nk y
Conhea Ni eta, uma moa que temi a par ecer medr osa. p. 11
Mi r i am Sut t er Mi r i am Sut t er Mi r i am Sut t er Mi r i am Sut t er Mi r i am Sut t er
Fbos, enti dade mi tol gi ca. p. 12
Ent r Ent r Ent r Ent r Ent r e ee eevi st a vi st a vi st a vi st a vi st a
O cor del i sta Gonal v Gonal v Gonal v Gonal v Gonal ves F es F es F es F es Fer r er r er r er r er r ei r ei r ei r ei r ei r a da Si l va a da Si l va a da Si l va a da Si l va a da Si l va. p. 14
Jos Dur val Caval cant i de Al buquer Jos Dur val Caval cant i de Al buquer Jos Dur val Caval cant i de Al buquer Jos Dur val Caval cant i de Al buquer Jos Dur val Caval cant i de Al buquer que que que que que
Exi sti r um di a no qual tenhamos vi vi do sem o mai s l eve senti mento
de medo? p. 15
Ir i neu Eduar Ir i neu Eduar Ir i neu Eduar Ir i neu Eduar Ir i neu Eduar do J do J do J do J do J. Cor r a . Cor r a . Cor r a . Cor r a . Cor r a
Vi ol nci a: o medo, s vezes, super a a pr pr i a causa. p. 16
Ent r Ent r Ent r Ent r Ent r e ee eevi st a vi st a vi st a vi st a vi st a
Zueni r V Zueni r V Zueni r V Zueni r V Zueni r Vent ur ent ur ent ur ent ur ent ur a aa aa e uma ci dade par ti da. p. 18
Br bar Br bar Br bar Br bar Br bar a Ar a Ar a Ar a Ar a Ar anyl de La Cor t e anyl de La Cor t e anyl de La Cor t e anyl de La Cor t e anyl de La Cor t e
O depoi mento de quem sofr eu a sndr ome do pni co. p. 20
Cssi a J Cssi a J Cssi a J Cssi a J Cssi a Janei r anei r anei r anei r anei r o oo oo
Quando o medo pode seduzi r. p. 22
Mar i a Cl ar Mar i a Cl ar Mar i a Cl ar Mar i a Cl ar Mar i a Cl ar a Caval cant i de Al buquer a Caval cant i de Al buquer a Caval cant i de Al buquer a Caval cant i de Al buquer a Caval cant i de Al buquer que que que que que
Uni dade de l ei tur a. p.24
Ent r Ent r Ent r Ent r Ent r e ee eevi st a vi st a vi st a vi st a vi st a
A autor a da col eo Quem tem medo? , F FF FFanny Jol y anny Jol y anny Jol y anny Jol y anny Jol y, fal a, em Par i s,
com a j or nal i staT TT TTat i ana Mi l anez at i ana Mi l anez at i ana Mi l anez at i ana Mi l anez at i ana Mi l anez. p. 26
Cac Mour t h Cac Mour t h Cac Mour t h Cac Mour t h Cac Mour t h
Pl uft, o doce fantasmi nha com medo de gente. p. 28
Joo Car l os Rodr i gues Joo Car l os Rodr i gues Joo Car l os Rodr i gues Joo Car l os Rodr i gues Joo Car l os Rodr i gues
Fi l mes de ar r epi ar. p. 30
Fi l mogr Fi l mogr Fi l mogr Fi l mogr Fi l mogr af i a af i a af i a af i a af i a p. 31
Ri car Ri car Ri car Ri car Ri car do Oi t i ci ca do Oi t i ci ca do Oi t i ci ca do Oi t i ci ca do Oi t i ci ca
O di l ogo entr e l var es de Azevedo e Augusto dos Anj os. p. 32
P PP PPaul o Condi ni aul o Condi ni aul o Condi ni aul o Condi ni aul o Condi ni
Lui zi nho sofr e com o val ento do ni bus da escol a. p. 34
Rober t o Cor r a dos Sant os Rober t o Cor r a dos Sant os Rober t o Cor r a dos Sant os Rober t o Cor r a dos Sant os Rober t o Cor r a dos Sant os
Br eve geneal ogi a do medo na obr a de Cl ar i ce Li spector. p. 36
Di di er Lamai son Di di er Lamai son Di di er Lamai son Di di er Lamai son Di di er Lamai son
O pavor de fal ar um i di oma estr angei r o. p.37
Rosa Gens Rosa Gens Rosa Gens Rosa Gens Rosa Gens
A for a da l i ter atur a de ter r or e seus mai or es nomes. p. 38
T TT TTher her her her her eza Lessa eza Lessa eza Lessa eza Lessa eza Lessa
Um escr i tor assombr ado por fantasmas geni ai s. p. 41
Bi bl i ogr Bi bl i ogr Bi bl i ogr Bi bl i ogr Bi bl i ogr af i a af i a af i a af i a af i a p. 42
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
3
B!
Sealguma espcie,
emqualquer tempo, no tevemedo,
ento essa espciefoi extinta.
Lei tur as Compar ti l hadas uma publ i cao da
ONGLei a Br asi l de Pr omoo da Lei tur a, di str i buda
gr atui tamente s escol as conveni adas ONG.
Todos os di r ei t os f or am c edi dos pel os aut o-
r es par a os f i ns aqui desc r i t os. Quai squer r epr o-
du es (par c i ai s ou i nt egr ai s), dever o ser au-
t or i zadas pr evi ament e.
Os ar ti gos assi nados r ef l etem o pensamento de
seus autor es.
Lei a Br asi l e Lei t ur as Compar t i l hadas so
mar c as r egi st r adas.
Edi tor : Jason Pr ado
Subedi tor a: Ana Cl udi a Mai a
Di r eo de Ar te e Pr oduo Gr f i ca: Bar bar a Necyk
Pr oj eto Gr f i co: Thi ago Pr ado
Consul tor l i ter r i o: Ri car do Oi ti ci ca
Revi so: Suel i Rocha
Ti r agem: 10.000 exempl ar es
Lei a Br asi l Or gani zao No Gover namental de
Pr omoo da Lei tur a.
Rua Santo Cr i sto 148/150 par te, Santo Cr i sto, Ri o de Janei ro
CEP 20220300
Tel / Fax: 21 22637449 l ei abr @ l ei abr asi l .or g.br
www.l ei abr asi l .or g.br
G eo rgi i & V lad i m i r S ten b erg
(1927) litografia em cores, detalhe.
Biblioteca Estatal Russa, Moscou.
Quando escol hemos o tema dessa edi o,
imediatamente nos ocorreu buscar o depoimento
daqueles que julgvamos sem medo: os evictos.
Aqueles que, por estarem condenados por uma
vida recluso; por viverem na total promiscui-
dade corroendo seu amor-prprio; por terem es-
quecido as condies de sociabilidade e j no
terem mais qualquer esperana, so donos do mais
absoluto nada a perder.
Puro engano se h vida, h medo.
Logo descobrimos o conceito que norteia esse
nmero de L ei tu ras C o m p arti lh ad as: sealguma
espcie, emqualquer tempo, no tevemedo, ento
essa espciefoi extinta.
O medo o mais bsico dos instintos e est
ligado sobrevivncia.
No s sobrevivncia fsica, dor e morte
da matria.
Ele est ligado, tambm, manuteno de
uma situao confortvel. Na psicologia, confor-
tvel no o que agradvel, mas o que no nos
ameaa com mudanas.
Vem da o nosso medo de tudo: do desco-
nhecido, do novo e at da felicidade.E tambm
do escuro, de altura, de solido, do outro etc.
Como se isso no fosse o bastante, o medo
nos ensinado caprichosamente, por tudo e por
todos, ao longo da vida.Quem nunca escutou dos
pais um grito tenso dizendo cuidado.
Cuidado para no cair. Cuidado com estra-
nhos, com os bichos, com fogo...
Quantas histrias ouvimos na infncia como
as de Chapeuzinho Vermelho, Pedro e o Lobo e
o Homem do Surro, para ficar s nas que nos
aconselhavam e no falar das que nos davam medo
como as cantigas de ninar?
Por isso, talvez, o medo nos cause tantas rea-
es fsicas como suor frio, taquicardia, boca seca,
paralisia, necessidade de fechar ou cobrir os olhos,
plos arrepiados, e outros sintomas que so deri-
vaes de medo, que tambm se desdobra em
pnico, fobia, pavor etc.
Estranhamente, o medo que nos ameaa o
mesmo que nos seduz.
Drcula, o prncipe das trevas que visitava o
pescoo das donzelas em seus leitos desprotegi-
dos tarde da noite, aterrorizava e seduzia com a
mesma competncia.
um paradoxo: quanto mais ameaadora a
histria ou a personagem, to mais atraente a obra.
O medo inspira a literatura, rende bilhes no
cinema e motiva dezenas de esportes chamados
radicais, onde o homem testa seus limites fsicos
e emocionais.
Na mi tol ogi a, Fbos, o Deus do Medo,
fi l ho de Marte, o Deus da Guerra. Curi osamen-
te, sua face foi pouco i nterpretada pel as artes
ao l ongo da hi stri a. Tal vez porque o medo se
propague e cresa sob o vu da escuri do e do
desconheci mento. Poderamos at afi rmar, di -
ante di sso, que sua me seja a Noi te, porque
nesse horri o que o medo mai s se apodera da
mente humana.
O medo sempre esteve ligado ao olhar, tan-
to pelo que se via quanto pelo que no se via: a
Medusa transformava em pedra a todos que a
viam. E todos os monstros da Esfinge aos dra-
ges medievais, de Crbero, o co do inferno ao
recente Fred Krueger possuem graves distor-
es estticas que ampliam sua capacidade ame-
drontadora.
Prepare-se para l er sem sustos nem sobres-
sal tos.
Desta vez vamos falar desse giganteda alma
1
,
sob suas mais variadas faces, para ajud-lo a livrar
seus alunos dos medos, at mesmo dos livros.
1 Emilio Mira y Lopez.
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
4
poder se refletir em suas aes, quando for
adolescente, adulto ou velho.
Aos poucos, a fantasia vai se organizar em
um mundo de fadas ou de bruxas, de mons-
tros ou salvadores. A imaginao muito rica,
e as intensas e contraditrias emoes do dia
podem se converter em imagens aterradoras
durante a noite, nos sonhos.
Tambm a escurido tende a se transfor-
mar em tudo que representa o desconhecido,
num mundo que est comeando a se orde-
nar. A criana tem muita dificuldade de en-
tender onde acaba o mundo de dentro e co-
mea o mundo de fora. A escurido pode au-
mentar essa dvida e dar a possibilidade de
que a imaginao, os sentimentos e as emo-
es reinem absolutos.
Nesse momento, pode-se utilizar a arma po-
derosa e ancestral que o conto popular. Ele
uma ferramenta valiosssima a servio do desen-
volvimento emocional da criana. Nessescontos,
fala-se dosconflitosreaise imaginriosque todos
experimentam durante seu crescimento.
Jacqueline Held no livro O i m agi n ri o n o
p o d er, apresenta idias que so fundamentais
para o entendimento da necessidade que te-
mos dos contos fantsticos. Para ela a narra-
o fantstica rene, materializa etraduz todo um
mundo dedesejospara transformar sua prpria
vontadeo universo. Mas vai tocar o leitor ou o
ouvinteseno for feito apenasdeentidadesou seres
abstratos. O quetorna vivo o fantstico o cotidia-
no comtodososseusdiferentesaspectos.
Podemos pensar nessas questes e re-
lacion-las com as histrias de medo, tanto
para adultos quanto para cri anas. Como j
vi mos anteri ormente, se i nseri mos seres fan-
tsti cos em um mundo que nosso conhe-
ci do el es provocam angsti a, poi s h sem-
pre a possi bi l i dade de os rel aci onarmos com
o nosso real, mesmo sem percebermos. Mas
isso no causa grandes prejuzos e apenas vai
possi bi l i tar que vi venci emos todas aquel as
sensaes fortes, trazidas pela histria, que se
BENI TA PRI ETO
Estamos num novo sculo e a tecnologia
se desenvolve cada vez mais. No entanto, so-
mos ainda os seres que, maravilhados, ouvimos
histrias de feitos, faanhas, assombraes...
Tambm aumentaram os veculos de comu-
nicao, com o surgimento do rdio, cinema,
televiso, computador. Cada um buscando,
sua maneira, relacionar-se com a narrativa.
E, num caldeiro repleto de gneros, te-
mos o desejo pelo medo. Querem a prova?
Pois perguntem a uma criana ou adolescente
que tipo de histria quer ouvir e tero como
resposta um sonoro: TERROR!
O medo um sentimento bsico que faz
parte do desenvolvimento emocional. Ele nos
acompanha ao longo da vida e vai adquirindo
novas dimenses e caractersticas.
Tudo j comea no nascimento, ou quem
sabe antes, quando o beb, que se encontra-
va numa situao de total aconchego e prote-
o, de repente, passa a convi ver com um
mundo desconhecido, catico e confuso. Logo
ele vai atribuir a esse mundo externo tudo que
lhe faz mal, como a fome, o frio, a ansieda-
de. O mundo vai ficar dividido no que o sa-
tisfaz e lhe d prazer e no que lhe provoca
tenso, frustrao e mal-estar.
A criana passa por vrios estgios. No
princpio, na sua fantasia, ela atribui poderes
mgicos a seus pensamentos e desejos, no
diferenciando o que imagina do que ocorre
na realidade. O que ela representa em ima-
gens tem relao com a intensidade de suas
tendncias amorosas ou destrutivas e com sua
capacidade de tolerncia frustrao. A qua-
lidade dessa dinmica ser a medida dos te-
mores e dos medos que sente e, no futuro,
O FASCNIO PE
Aemoo mais forteemais antiga do
homemo medo, ea espciemais forteemais
antiga demedo o medo do desconhecido.
H. P. Lovecr aft
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
D
I
V
U
L
G
A
O
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
5
resolvero num plano imaginrio, preservan-
do nossa integridade fsica.
Acontece que, muitas vezes, pais, avs, fa-
miliares, amigos transformam o quase prazer
que esses contos provocam em algo aterrador,
atravs da atmosfera de pavor construda, e pro-
positalmente criando um medo real, como se
algo pudesse acontecer. E muitos de ns j
fomos vtimas desse terror na infncia, quan-
do ouvamos que uma infinidade de monstros
podiam nos levar.
Por isso deve-se tomar cuidado, no espe-
cificamente com o contedo, mas com a forma
de utilizao da histria. Claro que estamos
pensando em crianas que no esto traumati-
zadas ou tm algum transtorno psquico ou
psicolgico. O professor francs Marc Soriano
defende que ascrianasutilizamcerto tipo de
imagensquedespertamnelasressonnciasafetivas
para sevacinar contra eventuaistraumatismos.
Mas de onde vem esse fascnio pelas his-
trias de medo?
O psiclogo Bruno Bettelheim nos expli-
cou o assunto a propsito dos contos de fa-
das, dizendo que so um meio de projeo
dos instintos e problemas da criana. Atravs
deles so exteriorizados determinados confli-
tos da psique infantil, dando forma e corpo a
esses fantasmas.
J Freud interpreta o sinistro como aquilo
que foi convertido em espantoso, mas que em
algum tempo foi familiar e conhecido.
Da unio das duas idias podemos supor
que o sinistro, contido nos contos de medo,
consiste em que tais fantasmas pessoais nun-
ca nos abandonam de todo e nos revisitam
periodicamente, materializando-se na ocasio
em que algum estmulo os evoque. Por detrs
do sinistro est, de forma encoberta um dese-
jo de algo proibido ou oculto.
Por isso, nos primeiros anos de vida, es-
ses contos que tanto fascinam so importan-
tes, como uma forma inconsciente de exor-
cizar medos reais atravs de medos fictcios.
E posteriormente servem para aprofundar o
processo de amadurecimento pessoal, j que
neles esto em jogo emoes bsicas.
Outra questo que nos parece muito inte-
ressante de onde vem essa noo de sinistro
to em moda atualmente?
Em primeiro lugar, fala-se de uma indu-
o artstica e literria ao medo que provoca-
da pelo grotesco, j que ele o exagero, ou
seja, o deformado, aquele que no tem forma.
Portanto h uma induo ligada morfologia
ou iconologia literria facilmente identificvel
nos fantasmas ou defuntos, por seu aspecto.
Essa idia-ncleo de deformidade est na base
de diversos arqutipos que se repetem inces-
santemente nas expresses artsticas.
Mas o prefi xo negati vo de (de)formi dade
pode ser l i do tambm como aqui l o que est
contra a forma habi tual . As personi fi caes
deformes seri am aquel as que se contrapem
real i dade percebi da ou que i ncl usi ve se
aproxi mam dos mi stri os da morte, do va-
zi o, do i napreensvel .
Tambm h uma concepo degradada do
grotesco, assimilada do aspecto disparatado,
absurdo, extravagante ou grosseiro que vemos
em muitos personagens.
Historicamente o grotesco j era conheci-
do na Antigidade como podemos ver nas re-
presentaes mitolgicas dos centauros, sti-
ros, medusas... A literatura e a arte medieval
tambm esto povoadas de expresses grotes-
cas, por causa do tom religioso dessas artes e a
conexo com o mundo sobrenatural e escato-
lgico. Portanto o deforme o que est alm
da morte num duplo sentido: como carente
de forma (espritos, duendes...) e como exage-
ro ou deformao (as vises do inferno, a ima-
gem do diabo com chifres e asas de morcego).
Em todo caso, mais que a deformidade, o
conceito moderno sobre monstro est aproxi-
mado ao desconhecido e surpresa. O mons-
truoso o contravalor da beleza, o espelho ou
o foco que ajusta a sua imagem ou, dito de
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
D
I
V
U
L
G
A
O
cont i nua
LAS HISTRIAS
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
6
outra maneira, a outra face da mesma moe-
da. prprio do sinistro a sua presena la-
tente, como na Cuca das canti gas de ni nar,
ou a necessi dade de ocul tamento, da a i m-
portnci a dos heri s mascarados. Todos so
pessoas com uma pel e de ani mal , ou ani -
mai s com uma pel e de pessoa, trazendo
de novo o mi to.
Como exempl o de uma fi gura fol cl ri -
ca e si ni stra, temos o Homem do Saco.
Sua fasci nao depende do seu mi stri o,
seu ocul tamento, e mesmo seus obj eti vos
no revel ados. O que acontece que essa
i rraci onal i dade assi mi l ada rapi damente,
no campo moral , l i gado mal dade e
monst ruosi dade.
Mas a morfol ogi a das apari es si ni stras
coi nci de tambm com o l umi noso. Assi m a
presena de Deus a i ntui o do desconhe-
ci do, de uma fora sobre-humana que pro-
duz pni co, estupor e fascni o, que causa ao
sujei to experi nci as de di versos graus de pra-
zer ou desprazer. Deus, em seus aspectos de
fasci nante, excessi vo, superabundante, apro-
xi ma-se do concei to de grotesco no seu du-
pl o senti do como carente de forma ou con-
tra a forma, contrapondo-se normal .
A experi nci a do sagrado se transforma
medi da que a rel i gi o raci onal i za a i di a
do sagrado, em uma experi nci a do si ni s-
tro, do no-conheci do, do i nomi nvel , que
adota as rubri cas l i terri as do fantsti co,
estranho, aterrador.
Desse modo, o si ni st ro nos aparece
como grotesco e o grotesco se reafi rma como
essa percepo i rraci onal dos aspectos des-
conheci dos de nossa personal i dade, como o
retorno ao proi bi do, provocado por estmu-
l os que tm al guma rel ao (metafri ca ou
metonmi ca) com essa pul so l atente.
A anlise do medo, tendo como paradig-
ma a psicologia e a psicanlise, muito ex-
tensa, mas no poderia deixar de ser aborda-
da, mesmo que, minimamente, nesse artigo.
Agora podemos perceber que o dese-
jo pel as hi stri as de medo no da atu-
al i dade. Esses personagens so os que es-
to no nosso i magi nri o e h mui to tem-
po amedrontam e convi vem com o ho-
mem, embora tenham trocado um pouco
de fei o.
Nossos monstros de hoje esto basea-
dos em arqutipos antigos, mas mudaram
de forma e at de endereo. Temos, por
exemplo, os aliengenas e at os psicopa-
tas, bem verdadeiros, que passeiam pelas
cidades ferindo ou matando.
Podemos conviver com todos os tipos
de monstros, como os dos desenhos ja-
poneses, os Aliens, os Drculas, os
morto-vivos e os seres primitivos,
nossos velhos conhecidos, que
ainda existem nas peque-
nas comuni dades. E
todos podem ame-
drontar, pois de
alguma maneira
revi vem os mi -
tos.
E ser que essas
narrativas tambm no tra-
zem embutidas as velhas fun-
es de Propp? Atravs del as, no
estaremos buscando como desenlace
a recompensa, a descoberta do objeto m-
gico ou a reparao de um mal ?
Mas hoje nossos meni nos no so os
mesmos. Tm um mundo de moderni -
dades que os faz ver e senti r de outra
f orma. Aprendem com mai s rapi dez,
quando tm acesso i nformao e es-
col a. Podem ver o uni verso atravs das
tel as dos computadores e dos tel evi so-
res. Por i sso mui tas coi sas se banal i zam
e senti mentos que deveri am ser preser-
vados para toda a vi da so esqueci dos
ou nem so senti dos.
No h mai s o si l nci o que possi bi -
O FASCNIO PEL
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
7
domstica para a morte selvagem.
Todas essas coisas se associam e para que
possamos pensar um pouco sobre o reflexo
delas nas crianas, trazemos uma declarao
muito interessante do escritor Jess Callejo que
est no seu livro L o s d u e o s d e lo s su e o s.
Ele sugere que, nos tempos atuais, a Cuca
foi substi tuda pel a opresso e comerci al i -
zao que fei ta com o cari nho, quando al -
gum di z para uma cri ana: Se no fi zer tal
coi sa, eu no vou mai s gostar de voc. As-
si m a cri ana vai i ncorporar sua grande
l i sta de temores o de no ser queri da por
aquel es de quem el a gosta tanto e necessi ta.
Esse ser mai s um dos confl i tos psi col gi -
cos que el a ter que vencer ao l ongo da vi da.
BI BLI OGRAFI A BI BLI OGRAFI A BI BLI OGRAFI A BI BLI OGRAFI A BI BLI OGRAFI A
C A L L E JO , Jsu s. Losdueosde lossueos: ogros, cocos
y otrosseresoscuros. Barcelona: Martnez Roca, 1998.
C A M P B E L L , Jo sep h . O poder do mito. So Paulo:
PalasAthena, 1990.
C A S C U D O , L u i s d a C m ara. Dicionrio do folclore
brasileiro. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro/
Ministrio da Educao e Cultura, 1954. Literatura oral
no Brasil. 3.ed. Belo Horizonte: Itatiaia; So Paulo:
Editora da Universidade de So Paulo, 1984.
C O E L H O , N elly N o vaes. O conto de fadas. 2.ed. Rio
de Janeiro: tica, 1991.
H E L D , Jacq u eli n e. O imaginrio no poder: ascrianas
e a literatura fantstica. So Paulo: Summus, 1980.
(Novasbuscasem educao, v.7)
L O V E C R A F T , H o ward P h i lli p s. O horror sobrenatural
na literatura. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1987.
Beni ta Pr i eto Engenheira, atriz, produtora, contadora de histri-
as do Grupo Morandubet, especialista em Literatura Infantil e
Juvenil, e em Leitura: teoria e prticas. Autora do livro infantil:
A s arm as p en ad as.
O medo to saudvel para o esprito como o
banho para o corpo.
Mxi mo Gor ki 1868-1936 escritor russo
DIVULGAO
LAS HISTRIAS
l i tava el aborar os medos i nternos. Nem
exi ste o mi stri o e o encanto que rodea-
va as coi sas. As rel aes vo fi cando
fri as e i ndi vi dual i zadas. E a cri ana vai
perdendo a oportuni dade de i magi nar.
Tal vez dai venha a necessi dade de ou-
vi r/ ver o terror, que el es querem forte.
As hi stri as tm que ter mui tos com-
ponentes de vi ol nci a como o sangue,
ossos expostos, morte. I sso deve expri -
mi r o desejo de al go mui to mai s horri -
pi l ante que a prpri a cruel dade da vi da,
vi sta atravs dos di versos mei os de co-
muni cao.
H um lado que pode ser saudvel
quando atendemos o pedido: levamos
contos que tenham os tais elemen-
tos do horror, mas tambm aju-
dem a recriar algum ambi-
ente mgico. Dessa ma-
nei ra est aremos,
mais uma vez, re-
ligando esses ou-
vintes a toda uma
ancestralidade.
Sem esse cl i ma es-
taremos apenas contri bu-
i ndo para banal i zar a morte,
reforando a vi ol nci a que ve-
mos todos os di as em nossas casas,
a qual quer hora, i mpassvei s, atravs
das centenas de notci as sobre o assunto.
Out ro peri go que, at ual ment e,
construmos uma i di a de que somos
i mortai s. Quem sabe para abafarmos o
enorme pavor que temos de morrer. Essa
fal sa i di a de i mortal i dade deve-se ao
aumento da expectati va de vi da do ho-
mem, atravs do avano da medi ci na e
modi fi cao de nossos ri tuai s, poi s ge-
ral mente estamos ss em um l ei to de hos-
pi tal quando chega o nosso momento fi-
nal. A morte no mais compartilhada e,
como diz Philippe Aris passamos a morte
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
8
O medo um senti mento uni versal e
muito antigo. Pode ser definido como uma
sensao de que voc corre perigo, de que algo
de muito ruim est para acontecer, em geral
acompanhado de sintomas fsicos que inco-
modam bastante tais como: palpitaes, ton-
turas, sudorese, calafrios, falta de ar, boca seca,
atordoamento, taquicardia, confuso mental,
contraes musculares, sensao de que algo
horrvel est preste a acontecer. Quando esse
medo desproporcional, irracional, com for-
tssimos sinais de perigo, e tambm seguido
de evitao das situaes causadoras de medo,
chamado de fobia. A fobia na verdade uma
crise de pnico desencadeada em situaes es-
pecficas. Em nosso artigo no vamos abordar
fobia, mas sim apenas o sentimento de medo.
O medo na literatura gerando um fascnio em
vivenciar este sentimento.
O sentimento do medo libera uma subs-
tncia conhecida como adrenalina, e isto sem-
pre acontece quando passamos por situaes
de medo ou estresse. Quando h o alvio des-
ta situao no nosso organismo, h a libera-
o de outra substncia conhecida como en-
dorfina, esta traz uma sensao de alvio e bem
estar. O ato de fazer amor passa pelo processo
de liberao da adrenalina durante o ato e,
depois do orgasmo, a endorfina. Talvez por
isso muitas pessoas tenham um fascnio por
algo que as faa sentir medo, uma maneira
de liberar tenses reprimidas, e ler contos ou
romances que nos fazem sentir medo nos faz
bem. Algumas pessoas precisam passar por si-
tuaes de perigo para se sentirem felizes e sa-
tisfeitas. Poderia citar alguns esportes radicais
praticados pessoas e que so perigos e nos fa-
zem liberar adrenalina.
De forma mais explcita ou menos, o sen-
timento do medo j habitou os mais diversos
gneros literrios. Influenciada por leituras de
LITERATURA FANTSTICA
histrias de fantasmas alems e francesas, Mary
Shelley criou a histria de Frankenstein na
Suia, numa noite de insnia, no vero de
1816. Segundo suas prprias palavras, Mary
viu nessa noite a cena central de sua hist-
ria: o jovem cientista apavorado diante da gro-
tesca criatura a que acaba de dar vida. Seu conto
comeava com a frase Era uma noitelgubrede
novembro..., que na verso definitiva do ro-
mance corresponde abertura do captulo V,
justamente aquele em que se narra o momen-
to em que a cri atura de Frankenstei n ganha
vi da. A pri mei ra edi o do romance data de
1818. Mary Shel ey fi cou conheci da mundi -
al mente por esta obra, cujos l ei tores fi caram
fasci nados com o fato da cri ao de um ser
com pedaos de vri os cadveres, de aspec-
to monstruoso e horri pi l ante, que gerava um
senti mento de medo i ntenso, mas ao mes-
mo tempo de curi osi dade, fascni o por aque-
l e ser sobrenatural .
Para entender mel hor sobre o fascni o
pel o medo na l i teratura pode-se abordar o
fantsti co na l i teratura. E o que seri a, ento,
o fantsti co na l i teratura? Em I n tro d u o
li teratu ra fan tsti ca, Tzevetan Todorov que
afi rma que o ponto principal do fantstico a
situao deambigidade. As hi stri as que
pertencem a este gnero nos dei xam as per-
guntas: Real i dade ou sonho? Verdade ou i l u-
so? Quando um l ei tor se depara com um
mundo que exatamente como o seu, qual -
quer aconteci mento que fuja s l ei s desse
mundo fami l i ar cri a a dvi da e a i ncerteza
sobre a possi bi l i dade do fato ser ou no real .
Todorov di z que o fantstico ocorrenesta in-
certeza (...). O fantstico a hesitao experimen-
tada por umser ques conheceas leis naturais,
facea umacontecimento aparentementesobrena-
tural. O conceito defantstico sedefinepois com
relao aos dereal edeimaginrio.... O autor
recorrer a outras defi ni es de fantsti co
afi rmando que em al gumas cabeao leitor he-
sitar entreas duas possibilidades e, em outras,
LEI LA BORGES DE ARAJO
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
9
esta hesi tao fi ca a cargo da personagem. O
l i mi te entre o estranho e o maravi l hoso
apenas o tempo de uma hesi tao. Essa he-
si tao que, segundo o crti co, comum ao
l ei tor e a personagem, porm tem sua dura-
o restri ta ao momento da narrao do fato.
A hesi tao no s da personagem, como
tambm do l ei tor a condi o pri mei ra do
fantsti co.
Uma ressal va que o crti co faz s defi ni -
es do gnero a da i nsi stnci a em col ocar
o critrio do fantstico (...) na experincia par-
ticular do leitor. Mai s especi fi camente na ex-
peri nci a de medo ou terror que el a capaz
de provocar. Se a durao do fantsti co a
hesi tao, ento, estamos di ante de um g-
nero extremamente frgi l , que pode se des-
fazer a qual quer mi nuto.
A l i teratura fantsti ca do scul o XIX sur-
ge como reao a um mundo em que o medo
no tem mai s espao di ante da i nfal i bi l i da-
de das l ei s postul adas pel a ci nci a. A ci nci a
passa a ser o desconheci do, o fantsti co no
mundo.Este mundo ordenado substi tudo
por um mundo de ambi gi dade, sempre
aberto para uma contnua revi so, tanto dos
val ores quanto das certezas.
No sculo XXI, no entanto, seria isso que
deveria acontecer, a cincia acima de tudo, mas
as pessoas no param de ler e nem de assistir a
cenas que os conduzem e fazem sentir medo.
O homem ainda reage de maneira a querer sen-
tir esta experincia de medo.
Qual a expl i cao deste fascni o? A res-
posta seri a a vontade de vi ver peri gosamen-
te, l i berando adrenal i na para depoi s rel axar
com a endorfi na e al canar o prazer.
LEILA BORGES DE ARAJO Doutoranda em Psi col ogi a da Edu-
cao Uni versi dade do Mi nho Braga Portugal , Mestre
em Li teratura I ngl esa pel a Uni versi ty of London e Mestre em
Psi col ogi a pel a Uni versi dade Gama Fi l ho-Coordenadora do
Curso de Let ras do Cent ro Uni versi t ri o da Ci dade
Uni verCi dade - Pesqui sadora em Psi cometri a e Desenvol vi -
mento Cogni ti vo Uni versi dade Gama Fi l ho, Uni versi dade
Estci o de S e Uni versi dade do Mi nho
O homem
em movimento.
DESEJO
LEITURASCOMPARTILHADAS
Prxima edio de
Assinej!
www.leiabrasil.org.br
assinaturas@leiabrasil.org.br
Convivo como medo demorrer eele
mefascina.
AYRTON SENNA 1960- 1994 Piloto de Frmula 1
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
10
CHARLES FEI TOSA
conheci ment o. O senhor preci sa do servo
vi vo, para que sua aut onomi a possa se
const i t ui r. Hegel o pri mei ro f i l sof o da
moderni dade a most rar que o poder no
se d apenas pel a admi ni st rao do gover-
no ou at ravs de aut ori dades i nst i t udas,
mas pri nci pal ment e como uma rel ao de
f ora, como uma manei ra de cont rol ar
i ndi vduos, cl asses, povos, mi nori as, na-
t ureza ou os prpri os desej os. O poder
uma f orma de cont rol e at ravs da ameaa
const ant e de mort e, uma expl orao vi o-
l ent a do medo. Ora, que t i po de sabedo-
ri a pode haver ent o em uma at i t ude t e-
merosa que conduz servi do?
no medo do nada, na angsti a di ante
da morte, que Hegel v a ori gem da sabedo-
ri a. No se trata de uma sabedori a ci entfi ca,
nem tcni ca, mas exi stenci al . Para Hegel ,
embora o homem que teme se torne um ser-
vo, el e fez uma experi nci a que o i mpul si o-
nar para o futuro. A autonomi a do senhor,
ao contrri o, se revel ar frgi l , poi s se sus-
tenta apenas na subjugao do outro. O ser-
vo aprende no medo que a morte o se-
nhor absol uto, quer di zer, a morte tem po-
der tanto sobre o servo como sobre o senhor.
No temor da morte o homem aprende al go
acerca da sua fi ni tude, poi s el e treme e esse
tremor faz com que todas as suas certezas,
verdades e val ores preci sem ser reexami na-
dos e reval orados. Di ante da morte (uma
possi bi l i dade certa, ai nda que a hora seja
i ncerta), todos os probl emas tm i mportn-
ci a rel ati va, todos os projetos tm urgnci a
absol uta. O medo do servo em certa medi -
da um saber da fi ni tude. Essa sabedori a do
medo tem o poder da transformao de si e
do mundo, rumo outras formas de l i ber-
dade, que no se basei em mai s nem na do-
mi nao, nem na servi do.
Char l es Fei t osa Doutor em Fi l osofi a pel a Uni versi dade de
Freiburg/Alemanha e professor da UNI RIO (Universidade Fede-
ral do Estado do Rio de Janeiro).
Segundo uma defi ni o anti ga (Ari st-
tel es), medo a expectati va de um mal que
se avi zi nha. O medo pode se mani festar de
vri as formas e graus, mas tem sempre uma
causa especfi ca: medo de avi o, de al tura,
de escuro et c. Todos os ani mai s sent em
medo, mas esse medo refere-se sempre a
uma ameaa i mi nente (um predador, por
exempl o). Somente o homem capaz de
senti r medo mesmo que no haja ri sco
vi sta. Somente o homem capaz de tremer
mesmo no aconchego e na segurana da sua
sal a de estar. Esse ti po de medo, especi fi ca-
mente humano, no provocado por ne-
nhum moti vo determi nado: no h nada
em si que o justi fi que. Parece um medo de
nada, mas al go mui to mai s sri o: trata-se
do medo do nada, ou mel hor, do nada
mesmo se mani festando!
O medo o comeo da sabedori a, di z
o fi l sofo al emo Hegel (1770-1831) em
uma famosa passagem da sua D i al ti ca d a
d o m i n ao e d a serv i d o (I n: F en o m en o -
l o gi a d o esp ri to , Cap. I V) . Nesse texto
Hegel descreve teatral mente um combate de
vi da e morte entre doi s homens, vi dos pel o
reconheci mento de sua autonomi a e i nde-
pendnci a absol utas. Um del es i r at as
l ti mas conseqnci as, empenhado em con-
fi rmar sua l i berdade; o outro vai hesi tar ao
consi derar que a manuteno da vi da ai n-
da mai s i mportante. Um tem medo e o ou-
tro, no. Um vai abdi car servi l mente da sua
prpri a i ndependnci a para se manter vi vo;
o outro vai ser premi ado, pel a sua coragem
de correr ri scos, com o poder. Um o ser-
vo: o outro, o senhor.
i nt eressant e not ar que a part i l ha de
poder no ocorreri a se o senhor mat asse
o servo. Com a mort e do out ro, seri a ve-
dada t ambm a possi bi l i dade de obt er re-
A SABEDORIA
DO MEDO
D
E
T
A
L
H
E
D
E
M
O
R
T
E
E
V
I
D
A
D
E
G
U
S
T
A
V
K
L
I
N
T
(
1
9
1
6
)
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
11
MEDOS E MEDOS...
- Ora se voc tem coragem de se postar na
minha frente com seu cigarro, eu terei cora-
gem de atirar!
Mas infelizmente ele no estava brincan-
do, e se plantou, todo pimpo, de perfil para
Nieta, com o cigarro um Minister longo -
espetado entre os lbios.
E agora? Se a Nieta desistisse de topar o
desafio, passaria por medrosa, e isto ela, nos
seus brios feministas, no podia permitir. Ou
achava que no podia...
Da, ela pegou a espingarda de ar com-
primido, com seus chumbinhos, e a levou ao
ombro sem qualquer apoio. Suspense ge-
ral, todos assistindo, meio receosos. E a
Ni eta no fez o que obvi amente deveri a
ter fei to, que era mi rar bem pra fora daque-
l e al vo di fci l , resol vendo o assunto com um
i nofensi vo ti ro no ar. Mas i sto nem sequer
l he passou pel a cabea. Na sua honesti da-
de ou seria ingenuidade? ela mirou o
cigarro mesmo do meio para a ponta,
verdade mas o ci garro, si m. Mi rou e
apertou o gatilho com tanta sorte (e ex-
celente pontaria) que cortou o bendito ci-
garro pelo meio!
Vitria! Aplausos gerais para os dois
bobos a Nieta e seu desafiador. Dois
bobos, sim porque aquela exibio no
era um ato de coragem, que o contr-
rio de medo, mas uma tola bravata dos
dois jovens protagonistas.
E bravat a, gent e, no coragem.
Coragem seri a vencer um medo verdadei -
ro e mui tas vezes sensato e i ntel i gente
em caso de extrema necessi dade ou si -
tuao-l i mi te.
Imaginem s se o medo da Nieta, o de
parecer medrosa, resultasse em um ferimen-
to no rosto, ou mesmo no olho, do valento
que provocou aquela cena? Ixi!
Falar sobre medo at fcil. Eu poderia
falar do medo do escuro, do medo do trovo,
de fantasma, de vampiro, de bruxa, de cobra,
de lobisomem e de outros menos votados, at
mesmo do popular medo de barata.
Mas o medo de que eu quero falar um
medo di ferente. No um medo raci onal ,
nem irracional, nem mesmo o j conhecido
medo do medo. O medo de que eu estou fa-
lando um medo todo especial: o medo de
parecer medroso!
O medo de parecer medroso resulta da in-
segurana que a pessoa criana ou no sen-
te, e que faz com que ela esteja a toda hora que-
rendo se afirmar, demonstrar que no tem medo
disto, daquilo ou daquilo outro. Isto acontece
muito com a pessoa tmida, que acha que pre-
cisa sempre provar alguma coisa a respeito de si
mesma, do seu prprio valor.
E que por isso mesmo
volta-e-meia se mete em toda sorte de saias jus-
tas das quais na verdade no precisaria.
Bem, s pra dar um exemplo, vou contar
um pequeno caso verdadeiro, que aconteceu
com uma moa que eu conheci, h muito tem-
po. O caso de uma jovem que no era medro-
sa, mas era tmida, e tinha muito medo de dar
parte de fraca, em especial diante dos rapa-
zes. Vamos l.
Aconteceu certo dia que esta Nieta di-
gamos que este era o seu nome estava em
um daqueles parques de diverses e mostrou-
se muito boa de pontaria no estande
de tiro-ao-alvo. Mas muito boa mes-
mo, tanto que ganhou vrios pr-
mios, como um ursinho de pel-
cia e at uma caixa de charutos,
para aplausos dos admirados cir-
cunstantes.
E foi a que aconteceu o i nes-
perado. O rapaz que a acompanha-
va, um garboso estudante de Medi ci -
na, resol veu test-
l a e provocou:
- Como Ni-
eta, voc que to
boa de pontaria, teria
coragem de acertar com o
seu chumbinho um cigarro na
minha boca, a uns oito metros
de distncia ou teria medo?
Assim desafiada, a Ni-
eta retrucou sem hesitar
na esperana, claro,
de que el e esti ves-
se apenas bri n-
cando:
TATI ANA BELI NKY
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
TATIANA BELINKY Escritora. Entre osseuslivrosesto: C o ral
d o s b i ch o s e M an d ali q u es
ILUSTRAES DE F PARA O LIVRO DOS DISPARATES DE TATIANA BELINKY, ED. SARAIVA
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
12
algum mito especfico do medo? No, no h!
Mesmo porque na linguagem dos mitos ou na
gramtica da conscincia mtica as palavras
no precisam necessariamente de uma expla-
nao discursiva. Elas prprias, as palavras,
assumem o carter de seres mticos, dotadas
de um poder mgico, que as transforma em
uma espcie de fora divina primitiva, de onde
emana e se corporifica ou presentifica tanto o
ser quanto a ao ou sentimento que a palavra
designa. No princpio era o Verbo
Nos mi tos gregos encontramos mui tas
destas palavras que designam paixes, quali-
dades intelectuais, sentimentos: Mnemosne, a
Memria, a me das Musas uma delas; ris,
a Discrdia; ros, o Amor; e assim por diante.
So palavras divinizadas, ou melhor, so da-
mones, poderes divinos que no possuem
propriamente um mito, mas que se constitu-
em como realidades divinas no e pelo prprio
nome que as designa. Quando se presentifi-
cam no ntimo do homem, os damones so
sentidos como foras que ultrapassam e extra-
vasam o ser humano, pois um damon o
rosto oculto da ao divina. O medo, em gre-
go Fbos(Phbos)
1
, uma dessas palavras: um
damon, uma fora divina.
E como um damon que encontramos
Fbos em Homero. Na I l ad a, Fbos sempre
est presente quando Ares, o deus da guerra
sanguinolenta, o deus que se sacia de sangue
e de carnificina, o matador de homens est
em ao.
Ares instigava os troianos, Atena de olhos
brilhantes, os aqueus. Demos(o terror) e Ph-
bos(o medo) estavam soltos, e tambm ris( a
discdia), a aliada-irm de Ares matador de ho-
mens, o insacivel e incontido furor da san-
guinolenta carnificina ( Il.IV, 399 sqq.)
No mundo da l gi ca l i ngsti ca, no en-
tanto, fbos possui uma outra hi stri a. Em
sua ori gem ou eti mol ogi a, fbos um nome
de ao, deri vado do verbo fbomai (ph-
bomai). Este verbo empregado por Home-
ro no sentido de fugir, especialmente quan-
do menci ona um grupo de pessoas que foge
tomado de medo, pni co ou terror. O senti -
do pri mei ro de fbos, portanto, fuga, mas
fuga moti vada pel o medo. Medo de enfren-
tar o adversri o na l uta, medo da vi ol nci a
desenfreada de Ares, em l ti ma i nstnci a,
medo da violncia de matar e ser morto. Sen-
ti mento e ao se fundem, e de seu senti do
pri mei ro, fuga, fbos passa a si gni fi car o
prpri o medo em si .
Mas para a mentalidade mtico-religiosa,
Fbos, o medo, um damon, uma fora exteri-
or ao homem, e por isso personificada como
um demnio divino. Hesodo, poeta poste-
Medo, pnico, terror, temor, horror, pa-
vor, fobia! A todo o momento nos confronta-
mos com estes sentimentos que nos inundam
e assombram e nos parecem nicos e unipes-
soais. Cada qual sofre os seus medos! Mas o
que o medo? A moderna cincia talvez te-
nha j suas teorias e suas respostas, talvez no!
Mas antes do pensamento cientfico, a consci-
ncia mtica, operando por uma lgica dife-
rente, experienciava o medo e sentimentos se-
melhantes e os explicava por meio de uma lin-
guagem prpria, a linguagem mtica. Mas h
MI RI AM SUTTER
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
FBOS,
M
I
C
H
E
L
A
N
G
E
L
O
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
13
UMA POTNCI A DI VI NA
rior a Homero, confirma esta personificao
na sua T eo go n i a.
Na geneal ogi a di vi na de Hesodo, Fbos
como personi fi cao do Medo recebe uma
fi l i ao defi ni ti va. Seu pai , como no pode-
ri a dei xar de ser, o terrvel deus Ares, o fl a-
gel o dos homens. Mas ento que a si mbo-
l ogi a mti ca nos surpreende e encanta. Sua
me Afrodi te, a deusa da fecundi dade, a
personi fi cao do i nsti nto bi ol gi co que as-
segura a perpetuao das espci es e, conse-
qentemente, deusa do desejo sexual e deu-
sa do amor.
Hesodo, todavia, s menciona a unio de
Ares e Afrodite e os filhos que os dois deuses
geraram. Mas Homero, na O d i ssi a (VI I I, 266
sqq.), nos rel ata um epi sdi o pi toresco da
unio amorosa de Ares e Afrodite.
Segundo o mi to, Afrodi te desposara em
bodas l egti mas o deus Hefesto, o deus fer-
rei ro, que confecci onava artefatos extraordi -
nri os em suas forjas di vi nas. Mas Hefesto
era o ni co deus fei o e fi si camente i mperfei -
to do Ol i mpo, poi s era coxo. Al m di sso,
pode-se di zer que tambm era manco psi -
qui camente, uma vez que fora rejei tado por
seus pai s, Hera e Zeus, ao nascer. Mas essa
j outra hi stri a.
Certo dia, Hefesto rece-
beu a visita de Hlio, o deus
Sol que tudo v, ao percor-
rer di ari amente o mundo
em seu magnf i co carro
dourado, puxado por cava-
l os i mortai s. Hl i o ti nha
visto Afrodite e Ares quan-
do se amavam s ocultas no
prprio palcio de Hefesto.
O feio e coxo deus, julgan-
do que era desprezado por
sua imperfeio fsica, resol-
veu flagrar os dois amantes.
Confeccionou uma rede de
mal has i nquebrantvei s e
invisveis, estendeu-a sobre o leito conjugal e
avisou a esposa de que saa para receber suas
homenagens cul tuai s na i l ha de Lemnos.
Afrodi te i medi atamente chamou Ares, que
sfrega e velozmente se precipitou ao encon-
tro da amada. Estavam juntos no leito quan-
do subitamente se viram enredados na arma-
dilha de Hefesto. Este logo chamou os deu-
ses para testemunharem a traio e a desonra
do leito conjugal. Para seu espanto, porm,
Apolo, Posdon, Hermes riram-se da situao
e convenceram Hefesto a soltar os dois aman-
tes, mediante um tipo de indenizao por
perdas e danos. Libertos, Ares voltou para
seu lar na Trcia; Afrodite, para Chipre, onde
as ninfas a banharam, untaram seu corpo com
leos odorferos e a vestiram com mantos des-
l umbrantes.
Indiscries homricas parte, da unio
desses dois extremos antagnicos de um todo,
pulso de vida (Afrodite) e pulso de morte
(Ares), nascem Fbose seus dois irmos: De-
mos(o terror) e a bela Harmonia.
Harmonia, etimologicamente, significa o
acordo, a juno das partes. Harmonia ,
portanto, outra daquelas palavras divinizadas
e personificadas que presentificam uma abs-
trao, qual seja, a concrdia, o consenso, o
equilbrio e, como tal, estava desde sempre
associada ao mbito do amor e deusa Afrodite,
de cujo cortejo fazia parte. Personificada, tor-
na-se a filha de pais antagnicos, Ares e Afro-
dite, e ganha por irmos Demose Fbos.
Demos, o terror que paralisa momentne-
amente o homem, irmo de Fbos, o medo
do desconhecido que faz fugir.
Morte, vida, discrdia, concrdia, dio,
amor, desarmonia, harmonia, medo, destemor
constelam, assim, na linguagem mitopoti-
ca, um complexo divino de opostos aparen-
tados e, justamente por isso, so smbolos de
realidades paradoxalmente opostas e comple-
mentares, que subjazem condio humana,
ambgua em si mesma, ontem e hoje e sem-
pre. A ns, meros mortais, resta-nos a aventu-
ra de descomplexific-los, de harmoniz-los,
sem fbos, ou como diz a nossa poesia oral,
sem medo de ser feliz.
1 Fbos, em grego, possui mui tos correl atos semnti cos. Pni -
co (< paniks do deus P , terror i nfundi do pel a apari o de
P) um del es; dos, medo dos deuses, temor respei toso,
revernci a ; dema, temor so outros, com outras nuances
semnti cas.
MIRIAM SUTTER Professora da PUC-Rio, doutora em Lngua e
Literatura Latina
DIVULGAO
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
14
Medo para Rafael
continuava umsegredo,
poisaprendeu ser valente
tevequelutar to cedo
quena vida nunca teve
qualquer sensao demedo.
Do cordel D u elo d e m ach o s, de Gonalo Ferreira da Silva
A literatura de cordel reflete de forma quase
imediata, o cotidiano, as crenas e aspiraes
do povo brasileiro. Um povo, que em grande
parte, raramente tem acesso a uma educao
formal e aos livros. Narrativas jocosas, aventu-
rescas ou aterradoras mantm viva essa tradi-
o do nordeste levada ao sul-maravilha em
caminhes e nibus de migrantes.
O cordel i sta Gonal o
Ferreira da Silva um
autor e um apaixonado
pela literatura de cor-
del e pel o repente.
Em Sant a Teresa,
bairro histrico do
Rio de Janeiro, ele
rene um acervo in-
comum de cordis e
promove encont ros
com os denominados
por el e acadmi cos
da Academi a Brasi -
leira de Literatura de
Cordel. Em meio a pe-
quenas histrias do canga-
o, lendas brasileiras e his-
trias urbanas, ele pinou
uma que fala do medo, ou
melhor, da falta de medo
do homem do nordeste, que
segundo Gonalo por nature-
za no sentemedo, esesentealgo
secreto. Eleno deixa exteriorizar o medo, a no
ser no dia quetiver uma prova monstruosa. Pois
na literatura decordel no existemaior virtude-
nembondadeou beatitude- quea coragemdeum
sujeito.
Um amigo meu estava na casa de um com-
padre. Quando chegou perto da meia-noite,
foi aconselhado pelo dono da casa:
- Rapaz, voc no devia viajar a esta hora,
muito perigoso. Voc vai passar pela gruta
da Av.
E o outro, com fama de cabra macho,
retrucou:
- No, isso coisa que no existe, coisa
de leigo.
Quando chegou na gruta da Av, meu
amigo viu que tinha um camarada parado. De
repente, a figura do sujeito se agigantou de uma
maneira inaceitvel, ficando com quatro ou cin-
co metros de altura. A ele teve medo, muito
medo. Quis correr, mas as pernas lhe negaram
equilbrio. Ele ficou numa situao tal at que
ele acabou correndo de qualquer maneira.
O sol veio raiando s cinco horas da ma-
nh, e ele ficou feliz pela vista da porteira do
cercado, da aproximao da casa. E disse:
- Ah! Valeu-me Deus que estou em casa.
Chegando perto da
cerca, tinha seu camara-
da, que o havia recebi-
do na noite anterior,
na porteira:
- rapaz, eu passei
por uma situao esta
noi te. Uma si tuao
inaceitvel para um ho-
mem do serto, acostu-
mado a no temer coisa
al guma. Mei a-noi te,
quando fui atraves-
sar a gruta da Av,
uma figura se agigan-
tou de maneira est-
pi da na mi nha
f rent e. S o p
dava mais de um
metro.
- Mais ou me-
nos assim...
E o sujeito mostrou o
p que se agi gantava nas
sombras do lusco-fusco do
amanhecer. O ami go s
quis mostrar que medo
coisa de ocasio.
E perguntado se j sen-
tiu medo Seu Gonalo respon-
de: eu no sei seo quesinto medo. Pelo queas
pessoasfalam, o queeu sinto seria umprincpio de
medo, mascomo eu no tenho certeza, digo queno.
S deuma prova monstruosa.
Foi estemaisumcaptulo
da maldadeetirania
da histria do nordeste
para ser contado umdia
queacaso for abordado
assunto devalentia
Do cordel L ab ared a, o cap ad o r d e co vard es, de Gonalo Ferreira
da Silva
ENTREVI STA
CABRA VALENTE DO CORDEL
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
DETALHES DE XILOGRAVURA DE ERIVALDO PARA O CORDEL A CHEGAD A CHEGAD A CHEGAD A CHEGAD A CHEGADA DE LAMPI O NO I NFERNO A DE LAMPI O NO I NFERNO A DE LAMPI O NO I NFERNO A DE LAMPI O NO I NFERNO A DE LAMPI O NO I NFERNO, ,, ,, DE JOS PACHECO
14
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
15
Exi sti r um di a no qual tenhamos vi vi -
do sem o mai s l eve senti mento de medo?
No possvel , e ni ngum objetar, se aps
procurarmos na mai s recuada de nossas me-
mri as di ssermos que esse di a no aconte-
ceu. Medo do di a que se i ni ci a. Medo do
di a que se vai com a noi te, a chegar com seus
sorti l gi os. Medo, onde o sono nos envol -
ve em sonhos, a nos transportar a l u-
gares que, apesar de desconheci -
dos, so estranhamente fami l i a-
res. Medo conti do no gri to da
cri ana, na noi te, a assustar
seus pai s, horrori zada com
as formas da sombra a de-
senharem fantasmas de
um bi cho, de um l a-
dro, de um papo.
Aquel e expresso no sonho
de cai r no abi smo, de con-
templ ar o prpri o corpo, de que
nos perseguem, da onda gi gantes-
ca prestes a nos engol far, da pessoa
queri da com vestes e rosto do desco-
nheci do. Do senti mento de que nos
contam al guma coi sa em voz que no se
ouve. De contempl ar uma nuvem a desenhar
formas no sabi das. Medo, que determi na
um estupor di ante do real i zado da tragdi a
que s no pensamento foi rascunhada. No
perseverante medo i nfanti l , a nos acompa-
nhar com a i magem de monstros que nadam
em poo negro e profundo, como al go que
no se gasta e que permanece fora do tem-
po. qual quer coi sa que nos habi ta, que at
no sono nos agi ta, sem descansar. Angsti as
sonhadas, mui to mai s reai s do que as que o
di a a di a nos traz. Sensaes somente imagi-
NOSSO VELHO E
ESTRANHO CONHECIDO
nadas e, no entanto, verdadeiramente senti-
das. So tantas as coisas que, mesmo sem
existirem, existem o tempo todo. o afeto
que pode nos tomar quando contemplamos
uma bolinha de papel na correnteza dgua,
a pular desassossegada na direo do escuro
de um bueiro. quando entendemos a noite
que se aproxima como aquilo que tira o mun-
do do mundo, assi nal ando o umbi go do
medo. Como dizia o poeta, o medo da mor-
teeo medo dedepois da morte.
Na sua ori gem, bi ol ogi camente, a cri a-
tura humana, comparada aos outros animais,
sofre uma prol ongada dependnci a daque-
l es que a nutrem e amparam. Em seu come-
o, este ser consti tui -se com um arremedo
de abertura para o mundo, ao qual l anar
seus apel os. Internamente, do ponto de vi s-
ta psqui co, um condensado de energi as sem
organizao, onde no existe vontade, o no,
a contradi o, a noo de tempo, mas to
somente uma fora constante e i mperi osa na
direo de uma satisfao. Em seu princpio,
este ser inerme sai de sua obscuridade atravs
do grito. Grito esse a presentificar o outro,
prximo na resposta ao seu apelo. Esta res-
posta, formada na ajuda, confere sentido ao
grito. ato inaugural de uma compreenso
mtua, edificada sobre a dependncia consti-
tutiva do ser humano. o que determina um
modo de relao que vai servir de palco para
o desenrolar da histria do homem.
A cri ana no sabe do certo ou do erra-
do, do bem ou do mal . Estas noes encon-
tram-se no outro, a bem di zer, nos pai s, atra-
vs do que di zem e mostram. do prxi mo
que el a vai receber as pal avras com as quai s
se entende. da me que, ouvi ndo o cho-
ro da cri ana, di z: Tens sono, tens fome,
tens medo. um outro que fal a pel o um.
Impl i ca i sto um constante medo do errar,
num vi ver entre a cul pa e o casti go. No
pi or dos medos, a perda do amor ou
do abandono. O homem l ana mo
de recursos: heri s i mortai s e i m-
batvei s, espri tos prote-
tores sero i nventa-
dos. Oraes po-
derosas cont ra
os i ni mi gos se-
ro i nvocadas.
Mai s t arde,
quem sabe, tal vez,
um no preci so de nada. Ou ai nda, um de
tudo saber. Antdoto vi goroso, o amor, deve
ser usado. Porm, paradoxal mente, este traz
novamente o medo. O de perder o seu obje-
to de amor ou de no ser correspondi do. O
retorno ao i nani mado, a morte, o fi nal da
cadei a do medo.
JOS DURVAL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE Mdi co, psi -
qui atra e membro psi canal i sta da Soci edade de Psi canl i se
I racy Doyl e.
E-mail: jdurval@unisys.com.br
JOS DURVAL CAVALCANTI
DE ALBUQUERQUE
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
16
A VIOLNCIA
I RI NEU EDUARDO J. CORRA
Assal tos, seqestros, assassi natos, bal as
perdidas, brigas em boates e bailes. Todos tm
um caso de violncia para contar. A impren-
sa noticia a sua banalizao e ela acabou por
se tornar a maior preocupao da sociedade.
Vrias causas so apontadas para a explicar a
situao: misria, patologias individuais e so-
ciais, educao, deciso individual, deciso
poltica. Um nico sentimento est no cen-
tro das aes de vigilncia, preveno e defe-
sa: o medo de ser tocado por ela.
O medo um velho companheiro do ho-
mem, embora no tenha nascido com ele. Re-
cm-nascidos, aparentemente, no tm o que
chamamos de medo. O primeiro choro do
bebe ocasionado pela distenso dos pulmes
e os imediatamente seguintes so devidos
sensao de desconforto gerada pela falta de
alimento na barriga ou pela falta de manu-
teno da temperatura no nvel epidrmico.
Com o passar do tempo, os comportamen-
tos associados quelas sensaes se tornam
mais complexos e variados. Um deles corres-
ponderia a uma espcie de angstia, seja di-
ante da fome, seja pela falta do seio ou da
mamadeira que saciar aquela sensao. Idem
em relao ao frio, que ser saciado por uma
boa coberta ou, de modo igualmente eficien-
te, por um bom aconchego.
Na medida que as sensaes se repetem,
entra em cena uma diviso prtica entre aque-
le que as sentem, a quem podemos chamar de
sujeito, e aquela coisa outra que sacia. O de-
senvolvimento de cada pessoa tem por base
essa relao, um processo que faz as distines
entre os objetos que esto no mundo, sejam
pessoas, coisas ou aes. Importante lembrar
que todo e qualquer sujeito poder ocupar a
posio de objeto ou de Outro. E isto no pa-
rece ser problema para nenhum deles, pelo
menos, em situaes normais.
Em sua trajetria, as pessoas vo experi-
mentando uma infinidade de sensaes agra-
dveis e outras tantas desagradveis, as quais
podem, at mesmo, estar distanciadas daque-
las, direta e inicialmente, ligadas fome, ao
frio e saciedade, at a um ponto quase im-
possvel de identificar qualquer relao entre
aquelas primeiras e as novas. Nesse processo,
podem entrar na lista de objetos mesmo aque-
les que no foram diretamente testados, bas-
tando que se paream com algum que j este-
ja na lista. A identificao dessa semelhana
varia de indivduo para indivduo, o que ser-
ve de ponto de referncia para um, no serve
necessari amente para outro, embora, num
mesmo grupo os gostos tendam a se aproxi-
mar uns dos outros. Alis, quem diverge mui-
to da mdia do seu grupo costuma ser cha-
mado de excntrico ou esquisito. De qualquer
modo, as sensaes de ambos os tipos vo se
acumulando e o indivduo se aproxima de um
estado de equilbrio homeosttico e psicol-
gico, no qual a sua conscincia de diferencia-
o das coisas e pessoas do mundo avana, para
alm daquela dimenso prtica de quando era
beb, em direo a uma subjetividade que per-
mi te que el e se reconhea defi ni ti vamente
como sujeito e reconhea o mundo como di-
ferenciado de si, onde tm existncia objetos e
o Outro.
Todavi a, este equi l bri o no estti co ou
defi ni ti vo, at mesmo no i ndi vduo adul to,
e a manuteno do equi l bri o uma ati vi da-
de constante e rdua, mesmo que no seja
consci ente todo o tempo.
O ato que identificaremos como violento
aquele em que o equilbrio rompido de
modo drstico e a integridade do sujeito colo-
cada em risco, quer do ponto de vis-
ta objetivo, quer do
subjetivo.
Nesta conjuno estaro estabel eci das as
condi es para que aparea o estado chama-
do de medo. Embora seja cl aramente um es-
tado de desequi l bri o, onde predomi nam as
sensaes desagradvei s, o medo tem um pa-
pel i mportante, de certo modo vi tal para a
sobrevi vnci a, quando ajuda na i denti fi ca-
o e control e por enfrentamento ou fuga
de al guma si tuao desfavorvel aos seus i n-
teresses ou de al gum i ni mi go.
Mas no este o medo que se consti tui
na preocupao mai or da soci edade atual .
Neste caso est o medo que vem sendo gera-
do por uma si tuao de vi ol nci a que asso-
ci a epi sdi os de al ta potnci a com constn-
ci a permanente, uma combi nao que vem
fazendo com que as pessoas se si ntam de-
samparadas, de tal forma que perdem o sen-
ti mento de ser sujei to e se vejam como se
fossem mero objeto, subordi nado s vi ci ssi -
tudes da vi ol nci a que o faz sofrer.
Neste estado de coi sas, a i mensa despro-
poro entre a potnci a do ato vi ol ento e a
presumi da capaci dade de resposta do i ndi -
vduo faz com que esta se torne i nexeqvel
e, de i medi ato, no reste ao i ndi vduo nem
a fuga e nem o enfrentamento, apenas aguar-
dar que passe. Na verdade, uma fuga si m,
mas por uma espci e de congel amento ou
anestesi a at que aquel e aconteci mento ter-
mi ne. Posteri ormente, uma al egri a desmedi -
da, gerada pel o fi m da si tuao de tenso,
pouco depoi s, uma profunda mel ancol i a e
uma rai va i ncomensurvel , mes-
mo quando negadas ou
repri mi das.
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
17
Noutra ponta, as atitudes que preveniri-
am a violncia tentaro se equiparar a ela em
potncia. Ao sujeito ameaado em sua integri-
dade, qualquer espao protegido considera-
do um osis, no importando o preo que se
pague por isso, em termos concretos ou subje-
tivos seja dinheiro, liberdade individual ou
coletiva. Os automveis particulares so blin-
dados. Pessoas, condomnios e trechos de ruas
recebem segurana particular ostensiva. As re-
sidncias so gradeadas e se transformam em
verdadeiras fortalezas. A vigilncia constante
em locais pblicos por cmeras de vdeo se dis-
semina. A imprensa repercute o clamor por
uma polcia de eficincia absoluta, leis muito
mais rgidas e sentenas judiciais mais longas e
de execuo sem possibilidade de comutao
ou outros recursos de suavizao. Ningum
nota que diariamente a polcia prende mais e
mais suspeitos e criminosos, os tribunais es-
to abarrotados de processos, os julgamentos
se sucedem e as prises e penitencirias esto
superlotadas. Alguns polticos dizem que ban-
dido bom bandido morto. Algumas pesso-
as concordam. O medo da violncia parece
justificar a violncia contra o Outro.
IRINEU EDUARDO J. CORRA Psiclogo, mestre em Letrase pes-
quisador da Fundao Biblioteca Nacional. Trabalhou como co-
ordenador de projetosda FUNABEM e exerceu a presidncia da
Comisso de tica do Conselho Regional
de Psicologia do Rio de Janeiro.
TERROR DA MORTE (fragmento)
Ah, o horror demorrer!
E encontrar o mistrio frentea frente
Sempoder evit-lo, sempoder...
Gela-mea idia dequea morteseja
O encontrar o mistrio facea face
E conhec-lo. Por maismal queseja
A vida eo mistrio dea viver
E a ignorncia emquea alma vivea vida,
Pior me[relampeja] pela alma
A idia dequeenfimtudo ser
Sabido eclaro...
O animal temea morteporquevive,
O homemtambm, eporquea desconhece;
S a mimdado comhorror
Tem-la, por lheconhecer a inteira
Extenso emistrio, por medir
O [infinito] seu deescurido.
Medo da morte, no; horror da morte.
Horror por ela ser, pelo que
E pelo inevitvel.
FERNANDO PESSOA 1888- 1935 Considerado um dos
maiores poetas da lngua portuguesa
AMOR E MEDO (fragmento)
Como teenganas! meu amor, chama
Quesealimenta no voraz segredo,
E setefujo queteadoro louco...
sbela eu moo; tensamor, eu medo...
Tenho medo demim, deti, detudo,
Da luz, da sombra, do silncio ou vozes.
Dasfolhassecas, do chorar dasfontes,
Dashoraslongasa correr velozes.
CASIMIRO DE ABREU 1839- 1860
P o eta. A u to r d e Asprimaveras.
D
I
V
U
L
G
A
O
QUE PARALISA
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
18
ZUENIR VENTURA
O Rio de Janeiro continua lindo. Mas in-
felizmente esta beleza est encoberta pela som-
bra da violncia. Uma sombra que encobre
tambm outras grandes e belas cidades brasi-
leiras. triste ver as cadeiras nas caladas de
antigas ruas de subrbio serem recolhidas para
dentro de casas gradeadas. O comrcio fecha
suas portas, as casas, suas janelas e a popula-
o seu corao, trancados a cadeado pel o
medo. Lar de brasileiros e estrangeiros, demo-
crtica em suas praias e rodas de samba, e hoje
rasgada pela misria e violncia.
Em seu livro C i d ad e p arti d a, o jornalis-
ta Zuenir Ventura conta a histria de uma ci-
dade que nasceu com a vocao da acolhida
e foi mutilada pela insegurana. Em entrevis-
ta ao L ei tu ras C o m p arti lh ad as, este cronista
da vida carioca fala da cultura do medo esta-
belecida e de sua crena de que o Rio de Ja-
neiro vai continuar sendo...
LC:O grande problema do Rio de Janei-
ro atualmente a violncia. O que isto
gera no cotidiano da cidade?
Zueni r : O problema dos nveis de vio-
lncia hoje que eles provocam, alm
do medo natural e justificvel, o
medo irracional e, s vezes, imo-
tivado. H casos em que o
medo se torna pior que a
prpria violncia. Hoje,
mui tos tm medo de
vir ao Rio de Janeiro.
Um medo que no
cede argumenta-
o de que mui -
tos cari ocas, por
exempl o, nunca
f or am assal t a-
dos. A cul t ura
da vi ol ncia aca-
bou por criar uma cultura do medo que, como j
disse, tornou o medo da violncia pior do que a
prpriaviolncia.
LC: O incio dos agrupamentos humanos, que
deram origem s cidades, foi causado pela neces-
sidade da unio dos habitantes de determinadas
regiesde se unirem para uma melhor defesa con-
tra inimigos externos. Hoje, o inimigo interno.
Isto pode gerar um processo inverso de isolamen-
to e fuga dos grandes centros?
Zueni r : Todas as formas de isolamento, de segre-
gao, de distanciamento j foram tentadas. Aqui
no Rio, primeiro as pessoas tentaram cercar suas
casas com grades, depois foram para condom-
nios fechados. Tentaram criar exrcitos particula-
res de seguranas, se fechar em verdadeiros
bunkers, e nada disso deu certo. Um caso contro-
vertido so os condomnios da Barra da Tijuca
1
,
onde teoricamente as pessoas estariam livres da
violncia, com a realidade mantida de fora. Por
fim, foi constatado que havia uma violncia en-
dgena, um tipo de violncia interna que se criou
nos condomnios. Hoje, um dos seus maiores
problemas exatamente a violncia dos jovens
que roubam carros para comprar drogas e as bri-
gas de gangues, tornando os condomnios se-
melhantes a guetos violentos. Muitas tentativas
de segregao, de apartheid, foram tentadas e to-
das fracassaram. A soluo no fcil. demo-
rada. a soluo da integrao da cidade. O Rio
de Janeiro uma cidade calorosa, de encontro,
afetuosa, uma cidade realmente de celebrao.
O destino do Rio vai ser o de voltar ao encon-
tro, celebrao. Espero que o momento atual
seja um acidente de percurso. Espero que a vo-
cao do Rio, seu destino, seja realmente a da
integrao. O apartheid, seja o racial, seja o soci-
al, no d certo em nenhum lugar do mundo e
no Rio de Janeiro tambm no d. Apesar de
tudo, a esperana que haja realmente o encon-
tro, o destino natural das cidades.
LC: Ento a busca de interao cultural, como os
projetos que procuram integrar os habitantes da
ILUSTRAO DE JUAREZ MACHADO PARA SEU LIVRO L I MI TE L I MI TE L I MI TE L I MI TE L I MI TE, ED. AGIR
ENTREVI STA
Quemtemmedo do futuro,
temmedo deser livre!
Fr ei Beto Escritor
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
19
favela com os do asfalto, seria um caminho?
Zueni r : Quando eu disse que, s vezes, o medo
da violncia pior do que a violncia, isso acon-
tece muito pelo nosso olhar daqui do asfalto para
as favelas. Ns temos a idia, a impresso carre-
gada de esteretipos, de que l um antro, uma
usina de violncia, esquecendo que ali a maioria
da populao pacfica, ordeira e trabalhadora.
A violncia ali produzida por um ncleo mni-
mo de 0,1 % dos moradores. Eu acho que voc
olhar para a favela, para o outro, para o diferen-
te, e mudar seu olhar de suspeita, desconfiana,
uma forma efetiva de aproximao. A cultura,
mais uma vez, est fazendo isso como fez no
fim do sculo XIX com o samba, que nasceu
sendo a msica dos segregados, discriminado, e
acabou sendo apropriado pela classe mdia, de-
pois de um primeiro momento em que ela o re-
jeitava e temia. Est acontecendo um pouco isto
com a cultura do hip hop, do funk, e com os gru-
pos de msica de periferia. Essa uma forma de
integrao. No Rio, ou melhor, no Brasil, a eco-
nomia separa o que a cultura une. A ponte desta
cidade partida tem de ser feita alm do movi-
mento social, tambm pela cultura.
LC: C i d ad e p arti d a foi l anado em 1994.
Nestes oi to anos, o que mudou? Voc consi -
dera que houve mel hora ou a si tuao se de-
gradou ai nda mai s?
Zueni r : O que evoluiu daquela poca para c
que, hoje, a sociedade tem, mais do que naquele
momento, a conscincia de que a violncia um
problema dela tambm. De que no adianta vi-
rar as costas para esta questo. De nada vale di-
zer que se pagam impostos, portanto isto pro-
blema do governo, ele que resolva o problema
da violncia. Sabemos que no assim. At por-
que a bala perdida no escolhe cabea. Ela est
caindo do nosso lado, aqui no asfalto. Essa cons-
cincia, que ainda embrionria e precisa ser de-
senvolvida, comea a tomar corpo na sociedade.
Com osmovimentosdo terceiro setor e toda essa
tragdia que aconteceu, de alguma maneira cha-
mamos a ateno para isto. Eu diria que hoje h
uma maior conscincia da sociedade de que ela
tem uma tarefa a cumprir nessa questo.
LC: Ento a sociedade, como forma de combater
o medo, partiu para tentar conhecer e entender
osproblemasque causam a violncia e, por con-
seguinte, o medo?
Zueni r : Exatamente. Durante dcadas, at mais
de um sculo, fomos criados com todos os
esteretipos em relao s favelas como um
antro de violncia. Quando voc v as condi-
es de vida l, se surpreende de como pa-
cfi ca essa popul ao. Porque, na verdade,
todos os bens, direitos e conquistas da cida-
dania ainda no chegaram l. Ento criamos
uma srie de barreiras preconceituosas, uma
viso estereotipada, estigmatizando um uni-
verso por ele ser diferente do nosso. Diferen-
te na cor da pel e, di ferente na manei ra de
morar, o fato de ser pobre... Isto tudo em um
processo de associ ao que mui to mai s
antigo.Vou me remeter apenas ao perodo da
abolio da escravatura, quando os negros fo-
ram jogados na rua: agora vocs sevirem. Por
esse processo de discriminao ter sido mui-
to permanente, muito freqente, ele est ar-
raigado, entranhado na nossa histria recen-
te e tambm na mais remota. Para sair disto
leva tempo, mas eu creio que hoje j esteja
surgindo uma luz no fim do tnel. Sabemos
que a soluo est na aproximao e no na
guerra. Ns temos uma certa vantagem, pois
no Brasi l no exi stem questes expl osi vas,
como por exemplo, a questo racial do Leste
Europeu, em pases como a Iugoslvia em que
se mata por achar que o sangue diferente.
Temos preconceito e racismo, mas no uma
forma to explosiva, de jeito que no esta-
mos beira de uma guerra racial, tnica. Po-
demos estar prximos de uma guerra social,
isto , de uma convulso social. Mas todo pro-
blema social tem jeito. A questo da misria
uma questo de vontade poltica, que pode
ser resolvida com um programa de integra-
o social. O Brasil tem - e o Rio de Janeiro
tem muito - uma energia vital, uma alegria,
muito grande. Apesar de tudo, neste momen-
to, o que vivemos a vocao da celebrao,
do encontro, da alegria, da paz.
1 Bairro do Rio deJaneiro conhecido por seuscondomnioseshoppings.
ZUENIR VENTURA Jornalista e professor universitrio h 40 anos.
Ganhou o prmio Esso deReportagem eo Prmio Wladimir Herzog
deJornalismo, em 1989. autor de1 9 6 8, O an o q u e n o term i -
n o u e C i d ad e p arti d a. Atualmentecolunistado jornal O G lo b o .
ANA CLUDIA MAIA
...A missa foi na segunda-feira, eno dia
seguinte, no feriado ensolarado, quemno es-
tava vendo a parada militar, estava na praia.
s12h45, asareiasdeIpanema eArpoador
estavamlotadas.
Derepente, a confuso. Cerca decinqen-
ta garotos, identificadosdepoiscomo funkeiros
dealgumasfavelasda cidade, comearama
brigar. Ostirosdisparadospara o alto pelos
policiaismilitares unspoucos, j quea maio-
ria estava no desfile aumentaramo pnico.
O tumulto durou menosdeuma hora, mas
foi suficientepara esvaziar asduaspraiasvizi-
nhaseencher a imaginao daspessoasdeter-
ror. Osbanhistascorreramapavorados, achan-
do queiriamser vtimasdeumarrasto igual
ou pior do queo deoutubro de1992.
sduasmanifestaesanterioresdevio-
lncia a chacina deVigrio Geral eumms
anteso massacredosoito meninosderua na
Candelria sesomava maisessa. Ostrsepi-
sdiosestavamcarregadosdeumintenso peso
simblico. Segundo o antroplogo Luiz Eduar-
do Soares, significavama violao detrses-
paosmticos: o espao sagrado, o espao do-
mstico eo espao do convvio democrtico, a
praia. A imagemda cidadeapartada pelo
medo reforava a comoo social.
C i d ad e p arti d a, de Zuenir Ventura, Ed. Companhia das
Letras, pgs. 87,88.
E A CIDADE PARTIDA
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
20
At onde consigo me lembrar, tive minha
primeira crise de pnico aos 17 anos. Naque-
la poca ainda no eram freqentes - no mais
que uma a cada 5 meses - mas j o suficiente
para me fazer acreditar ser algo amalucada, ou
cercada por espritos malignos... Em 1987 pou-
co ou nada se falava no Brasil sobre a sndro-
me do pnico. Passaram-se os anos e vrias cri-
ses mais, at que um dia eu me deparasse com
uma reportagem sobre a sndrome. Meu senti-
mento - diferentemente do da maioria das pes-
soas quando recebem esse diagnstico - foi de
alvio. Opa! Eu no era Carrie, a estranha... E
tampouco a nica a ter aquele tipo de proble-
ma. E, melhor ainda, se havia um nome, se
era um quadro clnico, ento haveria de existir
tambm uma forma de tratamento.
Mas ainda levei muitos anos at conseguir
controlar as crises. Vivia em altos e baixos. s
vezes se passavam muitos meses sem nenhu-
ma crise e, de repente, tinha duas em um ms.
Cheguei a cercear minha vida em funo da
sndrome. Tinha uma crise em um bar, com ami-
gos, e resolvia que no queria mais sair de noi-
te... Que em casa estaria mais segura. E ento
tinha uma crise em casa, e no havia o que fa-
zer... Demorei algum tempo at perceber que o
problema estava dentro de mim e, no, fora.
muito difcil explicar uma crise de pni-
co a quem nunca as vivenciou. Costumo ten-
tar assim: imagine-se sozinho, no meio de um
campo e, de repente, vendo um enorme leo
pulando na sua frente, pronto pra devor-lo.
S que no h leo.
Fsica e emocionalmente, isso se traduz em
uma sensao de perda de controle do pr-
prio corpo, como se estivesse em curso um
motim interno que no nos achamos capazes
de combater. Voc sente-se sufocar, faltando o
ar, faltando o cho, faltando-lhe o controle dos
SNDROME DO PNICO
UMA HISTRIA REAL
prprios movimentos e pensamentos. E tre-
mores, ou dentes batendo, clicas, enjo, pres-
so baixa, muitas vezes tudo ao mesmo tem-
po. Terror.
A vontade que se tem nessas horas de
correr para algum lugar seguro... Mas, uma vez
que no existe leo (ao menos no um de gran-
de juba e quatro patas), no h esse lugar segu-
ro. A ameaa interna, voc frente aos seus
medos, aos seus fantasmas... E eles o acompa-
nharo para onde voc for.
J ouvi vrias explicaes para a sndrome
do pnico, dadas por mdicos, psiclogos, psi-
quiatras. Em todas elas o fator predominante
era o medo. A sndrome comum em pessoas
com nvel de exigncia muito alto para consi-
go mesmas - e o medo de no ser capaz (seja l
do que for) leva crise. E h tambm o medo
de no ter controle absoluto sobre si mesmo,
corpo/ mente/ corao. E tambm o medo de
enfrentar o mundo que nos cerca (e que, con-
venhamos, no anda dos mais tranqilos). Ou
o medo do sofrimento, de estar sozinho, de se
entregar... Toda uma famlia de medos - bas-
tante aparentados entre si, diga-se de passagem.
Acho difcil falar em superao total des-
ses medos. Eles vo e vm, rondam, esprei-
tam... Mas tenho aprendido que no h outro
caminho que no seja o enfrentamento. Claro
que isso no fcil, e a uma ajuda profissio-
BRBARA ARANYL
DE LA CORTE
I
L
U
S
T
R
A
O
D
E
J
U
A
R
E
Z
M
A
C
H
A
D
O
P
A
R
A
S
E
U
L
I
V
R
O
L
I
M
I
T
E
L
I
M
I
T
E
L
I
M
I
T
E
L
I
M
I
T
E
L
I
M
I
T
E
,
E
D
.
A
G
I
R
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
21
nal , na minha forma de ver, fundamental.
Fazer uma terapia, para tentar descobrir qual a
origem e como funcionam esses medos. E tam-
bm buscar um tratamento, seja aloptico, ho-
meoptico, acupuntura, ayurveda... Desde que
srio e seguido com constncia.
Juntamente com a ajuda profissional, de
um valor inestimvel a ajuda da famlia e dos
amigos. Carinho um poderoso remdio con-
tra a sndrome.
Quanto a mim, no posso me dizer cura-
da. Sigo com meu tratamento, e vou seguir
enquanto for necessrio. Estou em algo como
um work-in-progress. Um contnuo respirar fun-
do e tomar coragem. Respirar fundo e mandar
os fantasmas procurarem outra morada, por-
que aqui eles no so mais bem-vindos. Isso
porque acredito que um tanto inconsciente-
mente - somos ns que os mantemos por per-
to. E o fazemos qui por medo... Sim, por-
que por mais contraditrio que isso parea,
esses medos, a sndrome, o pnico, depois de
um tempo, tambm podem se constituir em
uma morada, conhecida, e, como tal, aparen-
temente mais segura. Algo assim como morar
em uma casa mal-assombrada, mas que a
nica casa que voc conhece. Quem pode ga-
rantir que fora dela no v ser ainda pior?
No .
Sei muito bem que conselho no se d, mas
algumas dicas posso, no?So pequenas coisas
que fui descobrindo no decorrer dos anos, e
que me ajudaram muito. Se ajudarem a uma
pessoa mais que seja, j fico feliz. Vamos l.
A sndrome do pnico atinge cerca de 3% da
populao mundial. No Brasil, so aproxi-
madamente cinco milhes de pessoas. Nem
sempre os sintomas so claros. Saiba mais.
A ssociao N acion al da Sn drom e do Pn ico
T elefo n e 1 1 ) 5579-7257
P lan to S O S P si co l gi co
T elefo n e 1 1 ) 3654-1 3 1 3
www. so s. o rg. b r
Temer o amor temer a vida eosquetemem
a vida j esto meio mortos.
Ber tr and Russel l 1872-1970 Filsofo e matemtico ingls
LEITURASCOMPARTILHADAS
O que se pode
ler nos r ios ou
at r avs deles?
Velhas difer enas,
que fazem, de
cada um, um.
Tome seu lugar
a bor do. Por que
navegar pr eciso,
e ler t ambm.
I n di spe n s ve l pa r a e scol a s que I n di spe n s ve l pa r a e scol a s que I n di spe n s ve l pa r a e scol a s que I n di spe n s ve l pa r a e scol a s que I n di spe n s ve l pa r a e scol a s que
t m e que n o t m um Pr ogr a ma t m e que n o t m um Pr ogr a ma t m e que n o t m um Pr ogr a ma t m e que n o t m um Pr ogr a ma t m e que n o t m um Pr ogr a ma
de Le i t ur a . de Le i t ur a . de Le i t ur a . de Le i t ur a . de Le i t ur a .
Assine j!
www.leiabrasil.org.br
assinaturas@leiabrasil.org.br
O Caderno de Leit ura do Programa
Leia Brasil reunindo crnicas, cont os, poesias,
ent revist as e art igos de especialist as para ajudar
educadores a t rabalhar a leit ura na escola.
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
22
APROXIMAO
CSSI A JANEI RO
CSSIA JANEIRO Poetaeeducadora. AutoradeP o em as d e Jan ei ro .
s a espera pode ser. Sinto meu corao e meus
nervos todos vibram unssonos, segundo a se-
gundo. Uma gota de suor escorre em minha
testa, apesar do frio. O teto me comprime, como
se procurasse sufocar qualquer tentativa de fuga.
Imobilizada, apenas ouo e espero ... e espero
... No posso mais sentir minhas mos e meus
ps. Paralisia. No sei o que vir, mas mais
aterrorizante a espera do que o que est por
acontecer. Meus olhos ainda se mexem e pro-
curam uma sada, uma rstia de esperana v.
Sei, contudo, que escapar impossvel. A escu-
rido completa, mas meus olhos tentam, de-
sesperados, ver atravs dela..
Um calor lascivo me toma o corpo, num
estranho regojizo desprotegido. Estou s. Eu e
meu desconhecido. Sinto o calor ruborizando
a minha pele clara e delicada. Delrio quen-
te o medo. No sei at quando posso
sustentar a nvoa que me encobre as
sensaes e, paradoxalmente, as
desvela. Minhas roupas esto
jogadas no cho. Sei que
estou nua e a nudez
me torna ainda mais
frgil e desprotegi-
da e tambm
Ouo passos no corredor compri do de
minha casa. A porta do meu quarto est fecha-
da. Os passos se tornam mais fortes e eu sei
que, em breve, a porta se abrir num estron-
do. Tremo sob as cobertas. Poderia fugir, mas
sinto-me inerte.
A peregri nao do desconheci do um
lapso de tempo, mas
l onga como
mais quente. Num timo sinto todo o meu
corpo, a maciez da minha pele, a textura da
minha boca mida. Os passos esto mais pr-
ximos e agora o medo fascnio, seduo e
terror. Quanto mais prximo o som, mais sin-
to o corpo, sensvel como s aqueles que es-
to totalmente expostos podem ser. O lenol
a roar na minha pele traa um desenho deli-
cado, uma estranha dana de sensaes. No
me movimento, embora o corpo seja leve; sou
inteira uma teia de possibilidades.
No ouo mais os passos, no porque no
existam, apenas porque estou embevecida e
abafam-nos as batidas do meu corao. Sei que
a porta se abrir. Temo porque no conheo e,
no conhecendo, no posso, no estou no
controle. Mas, como algum que est por afo-
gar-se, sei que de nada adiantar me debater.
Deixo que a correnteza de sensaes me leve
para onde quiser. E, no exato instante em que
paro de lutar, posso desfrutar da hipnose da
minha alma, que tambm pulsa na sua pr-
pria escurido. No procuro alvio. Sei que
estou encurralada e h um estranho prazer nis-
so. Arrebata-me a satisfao de no estar mais
no controle, no saber o que vir, no ter idia
do que acontecer.
Tenho os olhos fixos na porta agora. Sei
que est muito prximo o momento em que
ela se abrir. Volto a olhar para as minhas rou-
pas inertes no cho e minha nudez no mais
a mesma, uma nudez total. Inesperadamen-
te desejo estar ali e no em qualquer outro lu-
gar. J no importa o que vir da porta. Ela
est fora de mim. E dentro de mim est uma
desconhecida cujo corpo se contorce faminto
entre os lenis, derrubando o pesado cober-
tor. Descubro o medo nas frestas da minha
alma, parte dela que pulsa e lateja. No posso
me separar dele, no agora que ele medo que
se faz fascnio.
A porta se abre num estrondo. Fecho os
olhos e deixo-me tomar. Entregue. Inexorvel.
D
A
N
A
I
D
E
,
D
E
A
U
G
U
S
T
E
R
O
D
I
N
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
23
Emcerto dia, hora, hora
Da meia-noitequeapavora,
Eu, caindo desono eexausto defadiga,
Ao pdemuita lauda antiga,
Deuma velha doutrina, agora morta,
Ia pensando, quando ouvi porta
Do meu quarto umsoar devagarinho
E disseestaspalavrastais:
algumquemebate porta demansinho;
H deser isso enada mais.
Ah! bemmelembro! bemmelembro!
Era no glacial Dezembro;
Cada brasa do lar sobreo cho refletia
A sua ltima agonia.
Eu, ansioso pelo sol, buscava
Sacar daqueleslivrosqueestudava
Repouso (emvo!) dor esmagadora
Destassaudadesimortais
Pela queora noscusanjoschamamLenora,
E queningumchamar mais.
E o rumor triste, vago, brando
Dascortinasia acordando
Dentro emmeu corao umrumor no sabido,
Nunca por elepadecido.
Enfim, por aplac-lo aqui, no peito,
Levantei-medepronto, e: Comefeito,
(Disse) visita amiga eretardada
Quebatea estashorastais.
visita quepede minha porta entrada:
H deser isso enada mais.
Minhalma ento sentiu-seforte;
No maisvacilo edesta sorte
Falo: Imploro devs- ou senhor ou senhora,
Medesculpeistanta demora.
Mascomo eu, precisado dedescanso,
J cochilava, eto demanso emanso
Batestes, no fui logo, prestemente,
Certificar-mequea estais.
Disse: a porta escancaro, acho a noitesomente,
Somentea noite, enada mais.
O CORVO DE EDGAR ALLAN POE
Comlongo olhar escruto a sombra,
Quemeamedronta, quemeassombra.
E sonho o quenenhummortal h j sonhado,
Maso silncio amplo ecalado,
Calado fica; a quietao quieta;
S tu, palavra nica edileta,
Lenora, tu, como umsuspiro escasso,
Da minha tristeboca sais;
E o eco, queteouviu, murmurou-teno espao;
Foi isso apenas, nada mais.
Entro coa alma incendiada,
Logo depoisoutra pancada
Soa umpouco maisforte; eu, voltando-mea ela:
Seguramente, h na janela
Alguma coisa quesussurra. Abramos.
Eia, fora o temor, eia, vejamos
A explicao do caso misterioso
Dessasduaspancadastais.
Devolvamosa paz ao corao medroso.
Obra do vento enada mais.
Abro a janela e, derepente,
Vejo tumultuosamente
Umnobrecorvo entrar, digno deantigosdias.
No despendeu emcortesias
Umminuto, uminstante. Tinha o aspecto
Deumlord ou deuma lady. E pronto ereto,
Movendo no ar assuasnegrasalas,
Acima voa dosportais,
Trepa, no alto da porta, emumbusto dePalas;
Trepado fica, enada mais.
Dianteda avefeia eescura,
Naquela rgida postura,
Como gesto severo, - o tristepensamento
Sorriu-meali por ummomento,
E eu disse: tu quedasnoturnasplagas
Vens, embora a cabea nua tragas,
Semtopete, no savemedrosa,
Dizeosteusnomessenhoriais;
Como techamastu na grandenoiteumbrosa?
E o corvo disse: Nunca mais.
Vendo queo pssaro entendia
A pergunta quelheeu fazia,
Fico atnito, embora a resposta quedera
Dificilmentelha entendera.
Na verdadejamaishomemh visto
Coisa na terra semelhantea isto:
Uma avenegra, friamenteposta
Numbusto, acima dosportais,
Ouvir uma pergunta edizer emresposta
Queesteseu nome: Nunca mais.
No entanto, o corvo solitrio
No teveoutro vocabulrio.
Como seessa palavra escassa queali disse
Toda a sua alma resumisse.
Nenhuma outra proferiu, nenhuma.
No chegou a mexer uma s pluma,
Atqueeu murmurei: Perdi outrora
Tantosamigosto leais!
Perderei tambmesteemregressando a aurora.
E o corvo disse: Nunca mais!
Estremeo. A resposta ouvida
to exata! to cabida!
Certamente, digo eu, essa toda a cincia
Queeletrouxeda convivncia
Dealgummestreinfeliz eacabrunhado
Queo implacvel destino h castigado
To tenaz , to sempausa, nemfadiga,
Quedosseuscantosusuais
S lheficou, da amarga eltima cantiga,
Esseestribilho: Nunca mais.
Aveou demnio quenegrejas!
Profeta, ou o quequer quesejas!
Cessa, ai, cessa!, clamei, levantando-me, cessa!
Regressa ao temporal, regressa
tua noite, deixa-mecomigo.
Vai-te, no fiqueno meu casto abrigo
Pluma quelembreessa mentira tua.
Tira-meao peito essasfatais
Garrasqueabrindo vo a minha dor j crua.
E o corvo disse: Nunca mais.
EDGAR ALLAN POE 1809- 1849 Poeta, contista e jornalista norte-
americano. Criador do romance policial e um dos grandes no-
mesda literatura fantstica. Entre suasobrasesto: O gato p reto ;
O p o o e o p n d u lo ; A q u ed a d a casa d e U sh er.
( FRAGMENTOS)
. . .
T rad u o d e M ach ad o d e A ssi s
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
24
Quem tem medo do l obo mau? O Cha-
peuzi nho Vermel ho, os trs porqui nhos, os
sete cabri ti nhos, nossos al unos, voc e eu.
Uma vez perguntaram ao fol cl ori sta C-
mara Cascudo se, depoi s de tantos anos es-
tudando nossos mi tos, el e acredi tava em l o-
bi somem. Cascudo passou as mos pel os
cabel os e respondeu mai s ou menos assi m:
aqui, nesta sala iluminada, conversando com
voc, no acredito no, mas em noitedelua
cheia, andando sozinho no mato, meu amigo...
acredito simevoctambm.
O medo est presente em nossa vi da des-
de que nascemos. Medo do bi cho-papo,
da al ma penada, do escuro, de no sermos
amados por nossos pai s so somente al guns
pesadel os que povoam nossa i nfnci a.
So os lobosi nfanti s que rondam nos-
sos sonhos e enchem de ui vos nos-
sa i magi nao.
No toa que os acal an-
tos com os quai s somos em-
bal ados j nos avi sam
dos peri gos e
nos ori en-
tam sobre
o que
UNIDADE DE LEITURA
QUEM TEM MEDO DO LOBO MAU?
esperar da vi da que se i ni ci a.Dormenenm
quea Cuca vem pegar / Papai foi roa, ma-
mefoi trabalhar ou Bicho-papo em cima
do telhado / Deixa meu menino dormir sono
sossegado.
Com ouvi dos adul tos, parece-nos bem
pouco provvel que uma cri ana adormea
ouvi ndo sobre peri gos to prxi mos ou ame-
aas to aterrori zantes, mas o fato de um
adul to comparti l har com el a o conheci men-
to da presena do monstro, al i ado ao acon-
chego e voz que a embal a, d-l he a certeza
de no estar sozi nha e a faz rel axar.
No toa, tambm, que as hi stri as de
fadas cl ssi cas vm sendo contadas, atravs
dos scul os, a cri anas que nel as encontram
al vi o para os mai s di ferentes senti mentos.
Poder ouvi r que a madrasta i nveja a be-
l eza de Branca de Neve; que o Pequeno Po-
l egar consegue l udi bri ar o terrvel gi gante;
que Dona Barati nha, aps chorar a morte de
D. Rato, vol ta janel a para procurar outro
noi vo; que Ci nderel a, desobedecendo as
ordens da madrasta, vai ao bai l e proi bi do e
consegue casar com o prnci pe; que Joo e
Mari a conseguem sobrevi ver apesar do aban-
dono de seus pai s si nal i zar que nem tudo
est perdi do.
saber que no somos os ni cos a sen-
ti r i nveja, que mesmo a fora poderosa de
um gi gante pode ser venci da se usarmos a
cabea, que s vezes preci so enfrentar as
si tuaes para consegui rmos o que deseja-
mos, que mesmo aps as grandes perdas a vida
continua, e que, mesmo nossos pais, so ca-
pazes de senti mentos rui ns.
Ouvir que outras pe-
ssoas comparti-
lham de nos-
sos senti -
ment os
nos faz
menos
sozinhos.
Quando mudamos as estruturas destas
hi stri as numa tentati va de torn-l as menos
tri stes, ti ramos das cri anas a oportuni dade
de vi venci ar seus medos, comparti l har com
os personagens seus senti mentos menos no-
bres, enfi m, acal mar seus lobos. Se ressusci -
tamos D. Rato, por exempl o, dando-l he um
bom banho e o casamos com D. Barati nha,
teremos no s negado cri ana que nos es-
cuta uma excel ente oportuni dade de apren-
der a l i dar com perdas, como cri ado, a si m,
uma hi stri a de terror i mensurvel . Imagi -
nem o fruto deste casamento - um rato e uma
barata - nem Lovecraft, em seu mai s l ouco
devanei o, seri a capaz de pensar semel hante
horror!
medi da que vamos crescendo e que o
mundo a nossa volta vai se modificando, os
lobosvo ganhando novos nomes e contornos.
Podemos cham-los de morte, solido, doen-
a, guerra, separao, desemprego, violncia,
fome... O nome varia, mas o sentimento de
impotncia que nos invade o mesmo.
Como j no temos quem nos tome nos
braos e acal me nosso corao, procuramos
outros mei os de enfrentar a alcatia fami nta
que nos rodei a.
Num tempo de al ta tecnol ogi a, onde o
homem capaz de bri ncar de Deus cl onan-
do ani mai s e ensai ando a cl onagem de pes-
soas, nunca se estudou tanto as profeci as ou
se consul tou tantos astrl ogos e vi dentes,
numa tentati va de adi vi nhar o futuro e acal -
mar nossos temores. Como no temer o di a
de amanh se acompanhamos ao vi vo e a
cores, confortavel mente i nstal ados em nos-
sas sal as, o desmoronamento de doi s sm-
bol os do mai or i mpri o contemporneo? Se
o lobo j entra em nossa casa no s pel a
porta, mas tambm atravs do cabo da tel e-
vi so, preci so usarmos todos os mei os pos-
svei s para, pel o menos, enjaul -l o.
A arte, sempre croni sta de seu tempo,
nos si nal i za cami nhos e escapes. Os fi l mes
MARI A CLARA CAVALCANTI
DE ALBUQUERQUE
B
O
N
E
C
O
D
E
P
E
D
R
O
E
O
L
O
B
O
P
E
D
R
O
E
O
L
O
B
O
P
E
D
R
O
E
O
L
O
B
O
P
E
D
R
O
E
O
L
O
B
O
P
E
D
R
O
E
O
L
O
B
O
D
O
G
R
U
P
O
G
I
R
A
M
U
N
D
O
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
25
de terror l otam as sal as dos ci nemas, os l i -
vros sobre bruxari a al canam as l i stas dos
mai s vendi dos, os jornai s e revi stas se esgo-
tam ao fal arem do cri me organi zado. O
outdoor de propaganda de uma revi sta nos
al erta - Bons tempos emques sesentia medo
debandido solto.
Preci samos desesperadamente de al gum
que converse e comparti l he conosco, seja em
que l i nguagem for, dos nossos medos, poi s,
como di z Joo Carl os Rodri gues em seu ar-
ti go, nenhuma fico podeser hojemais ame-
drontadora do quea realidade.
No entanto, so as hi stri as - fi cci onai s
ou no -, l i vros, fi l mes, msi cas, peas de
teatro e novel as, as armas com que podemos
nos muni ci ar para tentar, pel o menos, do-
mesti car nossos lobos parti cul ares e ajudar
nossos al unos a enfrentarem os seus.
Por que no voltarmos com eles ao tem-
po de embal-los com histrias e leituras que
lhes permitam elaborar e compartilhar seus
sentimentos? Ao trabalharmos o medo de
monstros imaginrios, estaremos fortalecen-
do-os para lidar com os medos reais. Ao fa-
larmos abertamente de medos contempor-
neos, estaremos lhes dando a oportunidade
de exorcizarem suas preocupaes e temores.
preci so vencer o medo de fal ar do
medo. O dilogo aberto, a histria bem con-
tada, a leitura compartilhada nos permitiro
olhar o lobode frente e construir casas resis-
tentes que no caiam com um mero sopro,
atravessar florestas sabendo como no cair em
conversa de estranhos, saber a quem devemos
ou no abrir a porta de nossa casa e nos man-
termos alertas aproximao das feras.
A si m, como j di zi a Cascudo, s senti -
remos medo de lobos e lobisomens no mei o
do mato em noi te de l ua chei a, e no nas
sal as i l umi nadas.
MARIA CLARA DE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE Psicloga e
especialista em Literatura Infanto-juvenil e Leitura.
coleo
O N D E O S M ELH O RES AU TO RES SE EN C O N TRAM
w w w.record.com .br
H istrias de bruxas,fantasm as e outros habitantes do
universo do terror sem pre fizeram parte do im aginrio
infanto-juvenil. E que atire a prim eira pedra quem
nunca conferiu se havia um m onstro em baixo da
cam a ou deixou a luz acesa em noite de tem pestade.
Cincia ereligio tmuma origemcomum:
a necessidadehumana decontroledo medo.
Mar cel o Gl ei ser Fsico.
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
26
MEDO DE QU,
Fanny Joly adora rir. Foi rindo que ela es-
creveu seu primeiro texto, um monlogo c-
mico para a irm mais velha, a atriz Sylvie Joly.
Isso foi h quase trinta anos. Hoje, aos 47, um
marido e trs filhos, a escritora continua se
divertindo com o trabalho. Apesar da Licenci-
atura em Letras, Fanny confessa que sua for-
mao no foi na universidade. Seu aprendi-
zado foi no trabalho. Comeou como redato-
ra publicitria, uma profisso que, segundo ela,
lhe ensinou a ser direta no texto, dado essen-
cial na literatura infantil. Fanny tambm es-
creveu roteiros para o cinema e televiso, alm
de esquetes para o teatro. Mas o que mais lhe
d prazer so as histrias para crianas. Foram
mais de 130 livros traduzidos em 14 lnguas,
entre el es a conheci da col eo Q u em tem
m ed o d e. Nas paredes em volta de sua mesa
de trabalho, vrios desenhos de pequenos lei-
tores. nesta sala, num apartamento claro e
confortvel, a poucos metros da Torre Eiffel,
em Paris, que Fanny Joly recebeu a reprter de
L ei tu ras C o m p arti lh ad as:
LC: Os seus livros da coleo Q u em tem m ed o
d e falam de medos infantis que parecem uni-
versais. A senhora acredita que existam medos
que todas as crianas sentem em determinada
idade ?
Fanny: Esta coleo dirigida s crianas entre
3 e 8 anos. Nesta fase existem medos quase
instintivos que encontramos em todas as cri-
anas. Quando comeamos a pensar nesta co-
leo, fizemos uma lista de medos. Escolhe-
mos ento doze temas que nos pareciam uni-
versais. Ns at fizemos um teste: pergunta-
mos a algumas crianas quais os medos que
elas tinham. Ns terminamos por escolher te-
mas que nos permitiam uma histria tranqui-
lizadora e engraada. A idia era mostrar o
medo num contexto onde no haveria razo
para que ele existisse, como medo de drago,
medo de rato, medo de escuro... Eliminamos
os temas que falavam de coisas que realmente
do medo e que so perigosas, como por exem-
plo, o fogo. A gente preferiu se concentrar em
medos de conto de fada, quase mticos.
LC: E por que escrever sobre o medo? Quan-
do criana, a senhora tinha medo?
Fanny: Eu era muito medrosa, muito mesmo.
Na verdade, eu no escolhi escrever sobre este
tema. Como na poca eu j era uma autora
mais ou menos conhecida dos editores, me
propuseram fazer essa coleo em torno do
medo. E como de fato eu era muito medrosa
quando criana, achei a idia interessante e me
deu vontade de fazer.
LC: Hoje em dia a educao infantil se preocu-
pa em ajudar as crianas a perder o medo. Mas
antigamente o medo era utilizado como m-
todo de educao como, por exemplo, tem
um monstro no teu quarto que vai te pegar, se
voc no dormi r. A senhora acredi ta que
muito dos medos infantis foram criados pelos
adultos?
Fanny: Usar o medo da criana como mtodo
de educao entre aspas - ou como meio de
obter o que se quer como o exemplo que voc
utilizou, eu acho que algo realmente nocivo.
Para mim, o medo um elemento muito ne-
gativo no dia-a-dia. Ele nos impede de ir para
a frente, nos bloqueia, nos freia, nos faz andar
para trs. Acho ento que um elemento que
deve ser combatido. verdade que hoje em
dia ns, adultos, temos razo de ter medo. A
mdia nos submete a uma enorme quantidade
de notcias, ns somos bombardeados de ima-
gens que nos transtornam, difcil de lidar com
tudo isso! Mas se eu tivesse que escrever, por
exemplo, Quem tem medo de seqestro?,
num contexto onde isso pode acontecer, no
sei o que faria... Porque o que as crianas amam
nestas histrias sobre o medo que elas se sen-
tem tranqilas. O fio condutor da histria
voc tem medo de rato?, mas o rato no
vai te comer!, voc tem medo de aranha?,
mas, olha, a tua av pega a aranha com a
mo.... este tipo de coisa que tranqiliza,
mas verdade que com um seqestrador, por
exemplo, voc corre o risco de encontr-lo e
vai ser horrvel!
LC: Os seus livros so sempre engraados, bem
humorados. A senhora acredita no riso como
arma contra o medo?
Fanny: Ah, sim! Eu acredito no riso como arma
contra quase tudo no mundo. Contra o medo,
TATI ANA MI LANEZ
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
27
rir uma arma fantstica. Quando voc est
com medo e algum te faz rir, o medo se des-
faz imediatamente. De qualquer maneira eu
sou uma pessoa que adora rir e todos os meus
livros tm um tom humorstico. Nessa cole-
o eu escolhi um estilo diferente. De todos
os l i vros que escrevi , os l i vros Q u em tem
m ed o so os nicos nos quais eu falo com a
criana na segunda pessoa. Geralmente nos li-
vros para crianas a narrao feita na terceira
ou na primeira pessoa. Nessa coleo eu esco-
lhi falar diretamente com a criana. Ela o
heri da histria. Quando o medo aparece de
repente, ela se identifica ainda mais, ela est
dentro da histria. E o que acontece no livro,
acontece com ela tambm. E eu acho que esse
estilo funciona muito bem. Eu encontrei mui-
tas crianas que leram esses livros. Na Frana,
eles foram publicados h dez anos, ento tive
a oportunidade de encontrar muitas crianas e
professores que me disseram que o texto na
segunda pessoa fala diretamente s crianas,
funciona.
LC: Muitas crianas so reprimidas quando tm
medo. Alguns pais dizem aos seus filhos que
medo sinal de fragilidade. A senhora acredi-
ta que importante sentir medo?
Fanny: Eu no acho que temos que eliminar o
medo e sim tentar compreend-lo e super-lo.
Tentar entender o porqu, se o medo tem ra-
zo de existir naquele momento. O fato de no
termos medo no significa que est tudo bem,
mas o importante tentar ir em frente, supe-
rar este medo. uma etapa de crescimento, de
maturidade. bom poder falar.
LC: A senhora acha que a srie sobre o medo
terminou ou acha que daria para escrever mais
alguns livros sobre o tema?
Fanny: Eu acho que acabou. Para mim a idia
original dessa coleo foi h dez anos. Ela foi
criada num grande formato, depois relana-
mos a coleo num formato menor, mas no
escrevi livros novos, ficamos com os doze te-
mas. Foram os doze estabelecidos inicialmen-
te. Alis, o mais difcil para mim foi escrever o
livro Q u em tem m ed o d o m ar?. verdade
que existem crianas que tm medo da gua e
verdade que depois que aprendemos a nadar
perdemos esse medo e que no mar tem peixi-
nhos. Mas, ao mesmo tempo, o mar pode ser
perigoso. Quando eu te dizia que o fogo pode
ser perigoso, o mar tambm pode ser perigo-
so, ento no foi muito fcil. Foi o tema mais
difcil a ser tratado.
LC: E como voc achou a soluo para falar de
um tema difcil?
Fanny: Para mim a melhor soluo seria no ter
que escrever sobre o mar. Eu no gosto da idia
de ter que dizer: no precisa ter medo do mar.
Por outro lado, o livro sobre o monstro, por
exemplo, foi fantstico escrever, porque mons-
tros no existem! timo poder dizer no final
da histria: os monstros so timos, mas fe-
lizmente no existem, s nos livros. Sobre os
extraterrestres, como eu no acredito neles,
adorei poder contar uma histria delirante e
saber que nunca vamos encontrar um. Houve
uma idia de fazer Quem tem medo de la-
dro?, - parecido com a idia do seqestrador
de que falamos agora h pouco - , mas decidi-
mos no incluir este tema, porque no nosso
esprito seguro e engraado, no cabia ...
LC: Hoje em dia as crianas enfrentam o medo
do dia-a-dia: medo de terroristas, medo de
bomba... A senhora acha, no entanto, que elas
ainda tm medo de monstros e bruxas?
Fanny: Sim, porque h um prazer de ter medo,
que o medo com o qual podemos brincar,
sabendo que ele no existe de verdade. As cri-
anas tm realmente medo quando vem o
noticirio com assuntos assustadores, mas elas
adoram ter medo com os livros, com brinque-
dos... Elas brincam com o medo porque sa-
bem que no fundo mentira e que de alguma
forma um prazer ter medo. Quando estamos
lendo, nossa vida no corre nenhum risco.
TATIANA MILANEZ Jornalista
Com colaborao de Ana Cludia Maia
FANNY J OLY?
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
28
Como todas as obras de indivduos cria-
dores, P i n q u i o de Collodi , os contos de fada
de Andersen e outros , as peas de Maria Cla-
ra Machado so importantes tanto para crian-
as como para adultos. Um espetculo de tea-
tro bem feito um estmulo para qualquer sen-
sibilidade. Para a criana ento, que no est
to preparada como ns para lidar com a reali-
dade externa, por estar mais ligada sua reali-
dade interna, ao esforo para crescer e em ven-
cer seus medos e ansiedades, as boas histrias
e seus smbolos se tornam um alimento neces-
srio para a alma em desenvolvimento .
O teatro dirigido para a criana um te-
atro muito especial. Enquanto o pblico adul-
to pode pensar sobre o que viu e tem a capa-
cidade de criticar, de selecionar seus sentimen-
tos para julgar o que est vendo, a criana s
poder captar o esprito da obra pelos seus
smbol os. El a adere total mente ao que v,
identificando-se com as personagens, no fa-
zendo ou no podendo fazer mais a diviso
entre o que fico e o que realidade. Se ela
se identifica com as personagens, ela transfe-
re os seus medos e ansiedades para essas cria-
turas. Est, pois, aliviando as tenses. A cri-
ana v seus medos interiores exteriorizados
e resolvidos atravs do faz-de-conta. Ela dei-
xa o mundo concreto e hostil para se trans-
portar a um pas l ongnquo onde todas as
dificuldades se tornam menos ameaadoras.
Estamos, ento, lidando com o mundo ma-
ravilhoso, com arqutipos.
A hi stri a de P l u ft, o fan tasm i n h a
gi ra em torno de uma faml i a de fantasmas
envol vi da com mari nhei ros em busca de um
tesouro. A Senhora Fantasma vi ve com seu
fi l ho Pl uft em uma casa abandonada, onde
foi escondi do o tesouro do Capi to Bonan-
a Arco-ri s. Aparece por l a meni na Mari -
bel , raptada por Perna de Pau, pi rata que est
PLUFT, O FANTASMINHA
procura do tesouro h dez anos. Mari bel
a neta do Capi to Bonana e com el a o pi ra-
ta quer se casar. Pl uft v um ser humano pel a
pri mei ra vez, quando Mari bel surge em sua
casa. El e tem medo de gente. Sua me o re-
preende, poi s quer fazer um i ntercmbi o
cul tural entre gente e fantasmas. Pl uft con-
versa com Mari bel , os doi s fi cam ami gos e o
fantasmi nha acaba por vi rar heri ajudan-
do a meni na a l i bertar-se do pi rata.
A pea nos fala do medo que temos de
crescer e sair de nossa casa para o mundo e do
medo que temos do encontro com o outro. O
medo no um valor absoluto, passa a ser re-
lativo e todos o possuem: adultos e crianas.
Quando o espetculo abre com o clebre
dilogo entre Pluft e sua me, ele est seguran-
do uma boneca velha que encontrou dentro
do ba de seu tio Gerndio. Observa a bone-
ca e em pnico pergunta:
- Mame, genteexiste?
- Claro, Pluft, claro quegenteexiste.
- Mameeu tenho tanto medo degente(larga a
boneca)
- BobagemPluft.
- Ontempassou l embaixo, perto do mar, eeu vi.
- Viu o que, Pluft?
- Vi gente, mame. S podeser. Trs.
- E voctevemedo?
- Muito, mame.
Pluft se sente frgil para encarar o mundo
real (adulto). Ele prefere no acreditar e conti-
nuar a viver em seu mundo seguro e conheci-
do. O desfazer do velho em nossas vidas e a
chegada do novo nos apavora e nos ameaa
como se no tivssemos recursos para enfren-
t-lo. preciso, ento, que a vida nos impo-
nha novas situaes. Porque s atravs da
experincia que podemos compreender que j
estamos preparados e prontos para o que vier.
Neste momento somos tomados pelo arquti-
po do heri e somos obrigados a deixar de lado
velhas idias e velhas posturas para, assim, nos
renovarmos e aceitarmos a nova situao.
Outro momento interessante da pea
quando o bandido Perna de Pau obrigado a
deixar Maribel sozinha no sto para buscar
uma vela na cidade. A menina se desamarra e
corre at a janela para pedir socorro. Pluft apa-
rece e Maribel desmaia. Ele observa a menina
durante um longo tempo tentando entender
as diferenas. Neste momento ela acorda e fi-
cam os dois parados, emocionados um em
frente ao outro. Neste instante comum ha-
ver um grande silncio na platia. Existe um
enorme suspense. Pluft (o mundo imaginrio)
e Maribel (o mundo objetivo) esto frente a
frente. So absolutamente diferentes, no exis-
tindo entre eles nenhuma semelhana. Os dois,
em um primeiro momento, procuram algum
ponto de identificao e no encontram. Mais
tarde, com seus medos aplacados pelo conta-
to real com o outro, descobrem dentro do ba
(o inconsciente) o Tio Gerndio - antigo fan-
tasma de navio e amigo do Capito Bonana
Arco-ris, av de Maribel. A partir da, os dois
se tornam grandes amigos. O outro ( Pluft X
Maribel ) aqui deve ser escrito com letra mai-
scula, o OUTRO, como um mistrio que
devemos aprender a amar. O mistrio sem-
pre uma interveno divina que nos impulsio-
na para a construo de uma vida plena. Ven-
cido o medo inicial, que a tenso entre medo
e coragem, os dois se tornam heris e vo em
busca do tesouro . O fantasma atua como re-
velador de uma verdade interna (inconscien-
te) que age de forma poderosa, fazendo com
que a fora vital se manifeste. Agora, impulsi-
onados por essa fora, os meninos conseguem
vencer o bandido Perna de Pau e recuperam o
tesouro do velho Bonana Arco-ris. Pluft, ao
abrir o tesouro, encontra uma foto de Mari-
bel, um rosrio e uma receita de peixe assado,
ao contrrio do que imaginava o pirata encon-
trar, ouro e jias. O bandido, em Pluft, somen-
te conhece o poder materialista da vida. No
CAC MOURTH
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
29
momento em que o cofre aberto, uma nova
dimenso da vida apresentada. O pirata con-
funde a riqueza interior com a idia do poder
material e, por isso, mandado para o fundo
do mar, para junto do tesouro que procura.
Enfrentado o medo do desconhecido, Pluft e
Maribel descobrem o verdadeiro tesouro da
vida, que somente se encontra atravs do amor
e do encontro real com o OUTRO que : um
rosrio (alimento para o esprito), uma receita
de peixe assado (alimento para o corpo), uma
foto da neta Maribel (o afeto, alimento para
as relaes se perpetuarem).
Estes trs ingredientes revelam a verdade
do grande bem da vida, o lado humano e espi-
ritual, despojado de qualquer conotao ma-
terial que possa vir a ter, como recompensas e
heranas que estimulam a ambio e afastam
o homem do seu Ser. Pluft e Maribel encon-
tram, atravs da experincia mtua e da supe-
rao dos seus medos, a receita do bem viver.
Maria Clara Machado trabalha o medo em
Pluft, no como um ato de covardia que im-
pediria o desenvolvimento do homem, mas
com um grande respeito ao medo verdadeiro
da criana em seu processo de crescimento e
entendimento do mundo, fazendo assim com
que a criana o encare como possibilidade de
mudana. Pluft uma onomatopia que desig-
na algo que estoura, que se abre para o mundo.
CAC MOURTH Diretora do curso do Teatro Tablado
AMOR E MEDO
Estou teamando eno percebo,
porque, certo, tenho medo.
Estou teamando, sim, concedo,
masteamando tanto
quenema mimmesmo
revelo estesegredo.
AFFONSO ROMANO DE SANT ANNA Poeta, crtico e
cronista. Entre suas obras esto: T extam en to s; A m u -
lh er m ad u ra.
D
E
T
A
L
H
E
D
O
C
A
R
T
A
Z
D
E
P
L
U
F
T
P
L
U
F
T
P
L
U
F
T
P
L
U
F
T
P
L
U
F
T
,
O
F
,
O
F
,
O
F
,
O
F
,
O
F
A
N
T
A
N
T
A
N
T
A
N
T
A
N
T
A
S
M
I
N
H
A
A
S
M
I
N
H
A
A
S
M
I
N
H
A
A
S
M
I
N
H
A
A
S
M
I
N
H
A
,
T
E
A
T
R
O
T
A
B
L
A
D
O
DE MARIA CLARA MACHADO
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
30
Os historiadores contam que,
em 1895, em plena Belle-poque
parisiense, na primeira exibio co-
mercial do cinematgrafo dos ir-
mos Lumire, a platia entrou em
pnico ao ver um trem avanan-
do frontalmente em direo c-
mera no documentrio A ch ega-
d a d e u m trem n a estao . Mais
de um sculo depois, isso hoje nos
parece engraado, mas nunca o
olho humano tinha tido oportu-
ni dade de ver uma l ocomoti va
sob esse ponto de vista sem ter
morrido esmagado. Da o medo
das pessoas que se abaixaram nas
cadeiras, gritaram no escuro ou
si mpl esmente saram correndo.
Meio sculo depois, a indstria de
Hollywood tentou repetir esse efei-
to com as pelculas em trs dimen-
ses, vistas com culos especiais,
onde objetos eram atirados em di-
reo ao pblico, que desviava o
rosto assustado, embora j saben-
do que se tratava de um truque.
Esses foram casos raros, pois
o medo no cinema em geral est
associado aos filmes de fico do
gnero terror. Entre cenrios gti-
cos de velhos palcios, cemitrios
e escadarias ocultas pela neblina
habi tam as enti dades do outro
mundo. Algumas so semi-anima-
l escas, como o Conde Drcul a,
que se transforma em morcego, ou
o Lobisomem, que se metamorfo-
seia num lobo sanguinrio. Outras
so mortos-vivos como Nosferatu,
a Mmia ou os Zumbis. E at o
O MEDO NO CINEMA
cinema nacional contribuiu para
o gnero, com o brasileirssimo Z
do Caixo.
Outra vertente de filmes apa-
vorantes trata do cientista louco,
que desafia a natureza ultrapassan-
do os limites da sensatez e crian-
do criaturas monstruosas que fo-
gem do seu controle. O cenrio
aqui um laboratrio, com seus
tubos de ensai o com estranhas
borbulhas. o caso dos clebres
Dr. Frankenstein (que criou um
homem com pedaos de diferen-
tes cadveres), Dr. Moreau (em
cuja ilha animais eram transforma-
dos em gente) e Dr. Jekyll (o m-
dico que vira monstro ao tomar
uma estranha beberagem). Em
anos mais recentes tivemos o caso
do P arq u e d o s d i n o ssau ro s e A
m o sca, descendentes das tarntu-
las e caranguejos gigantes das d-
cadas anteriores.
O medo tambm alimenta boa
parte da produo de fico-cient-
fica, que pode ser ambientada em
navesespaciaisde design ultramoder-
no ou em cenrios cotidianos. De-
pendendo do clima poltico da po-
ca de sua produo, esses filmes re-
presentam o Outro (no caso os alie-
ngenas) ora como boas-praasmais
desenvolvidosque nshumanose
que suplantam nosso pnico inicial
(C o n tato s i m ed i ato s d o tercei ro
grau e E T ), ou, pel o contrri o,
como foras irracionais e destruti-
vas (A i n vaso d o s d i sco s vo ad o -
res, a srie A li en ) que devemos
matar para no morrer.
Segundo o D i ci o n ri o H o u -
ai ss, medo o estado afetivo de
conscincia ou premonio do perigo.
Da podermos tambm incorpo-
rar na nossa lista os filmes de sus-
pense, nos quais o espectador co-
nhece tudo o que ameaa os per-
sonagens, mas que estes ignoram.
P si co se, de Alfred Hitchcock um
cl ssi co desse gnero que ame-
dronta sem apelar para o sobrena-
tural. o mundo dos assassinos
seriais tipo Freddy Krueger em que
um simples ranger de escada arre-
pia nossas espinhas dorsais. Essas
obras, que se passam em cenrios
contemporneos e banais, mani-
pulam o medo nosso de cada dia.
Hoje, quando a TV mostra
nos telejornais da hora do jantar
tiroteios ao vivo com mortes re-
ais, e que o filme C i d ad e d e D eu s
revel a um mundo monstruosa-
mente impiedoso a poucas qua-
dras dos nossos lares, os Drculas
so outros, e podemos encontr-
los em qualquer esquina, luz do
dia, sedentos do nosso sangue. Ne-
nhuma fico pode ser hoje mais
amedrontadora do que a realida-
de. E pouco a pouco nos acostu-
mamos com o que devia nos re-
voltar. Vivemos a banalizao do
medo. As sepulturas coletivas dos
massacrados da Bsnia e os avies
se esborrachando nas torres do
Worl d Trade Center nos esprei -
tam... Longe daqui, aqui mesmo.
Existir ainda a possibilidade
de voltar atrs, aos bons tempos,
e nos amedrontarmos novamen-
te apenas com uma simples alma
do outro mundo, um velho vam-
piro ou um pobre morto-vivo?
JOO CARLOS RODRIGUES Jornalista, pesquisador
ecrtico decinema. autor doslivrosJo o d o R i o :
u m a b i o grafi a eO n egro b rasi lei ro e o ci n em a.
JOO CARLOS
RODRI GUES
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
D
I
V
U
L
G
A
O
.
F
O
T
O
G
R
A
M
A
S
D
E
P
S
I
C
O
S
E
,
D
I
R
I
G
I
D
O
P
O
R
A
L
F
R
E
D
H
I
T
C
H
C
O
C
K
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
31
Quando pensamos em medo i medi atamen-
te l embramos de fi l mes de terror, dos cl ssi cos
do expressi oni smo al emo aos famosos e cul tua-
dos fi l mes B. Mas o medo est presente no ci ne-
ma tambm em dramas, comdi as e thrillers psi -
col gi cos. Aqui voc tem uma pequena l i sta de
fi l mes em que o medo move as personagens para
a fuga ou para o enfrentamento, domi nando
seus desti nos. Mui tas vezes o mai or terror no
est no sobrenatural , mas nos demni os produ-
zi dos pel a prpri a mente.
ALI EN ALI EN ALI EN ALI EN ALI EN, ,, ,, O OI T O OI T O OI T O OI T O OI TA AA AAVO P VO P VO P VO P VO PASSA ASSA ASSA ASSA ASSAGEI RO GEI RO GEI RO GEI RO GEI RO (Alien), 1979, EUA.
De Ridley Scott Tripulantes de uma nave espacial
so ameaadospor uma criatura clandestina que es-
palha morte e terror a bordo.
A NA A NA A NA A NA A NAT TT TTOM I A DO M EDO OM I A DO M EDO OM I A DO M EDO OM I A DO M EDO OM I A DO M EDO (I ki mono No Ki roku),
1955, Japo. De Aki ra Kurosawa Comdi a dra-
mti ca. Com medo de ataques nucl eares, um
ri co comerci ante japons deci de se mudar para
o Brasi l .
ENCURRALADO ENCURRALADO ENCURRALADO ENCURRALADO ENCURRALADO (Duel), 1971, EUA. De Steven
Spielberg Homem perseguido agressivamente
na estrada por misterioso caminho.
FRANKENSTEI N DE MAR FRANKENSTEI N DE MAR FRANKENSTEI N DE MAR FRANKENSTEI N DE MAR FRANKENSTEI N DE MARY SHELLEY Y SHELLEY Y SHELLEY Y SHELLEY Y SHELLEY (Mary Shelleys
Frankenstein), 1994, EUA. De Kenneth Branagh
Jovem cientista pretende vencer a morte e d vida
a monstruosa criatura.
GASP GASP GASP GASP GASPARZI NHO ARZI NHO ARZI NHO ARZI NHO ARZI NHO, ,, ,, O F O F O F O F O FANT ANT ANT ANT ANTASMI NHA CAMARAD ASMI NHA CAMARAD ASMI NHA CAMARAD ASMI NHA CAMARAD ASMI NHA CAMARADA (Casper),
1995, EUA. De Brad Silberling Solitrio fantas-
minha no consegue fazer amigos, pois todos tm
medo dele. At a chegada da filha de um tera-
peuta de fantasmas.
GUERRA DOS M UNDOS GUERRA DOS M UNDOS GUERRA DOS M UNDOS GUERRA DOS M UNDOS GUERRA DOS M UNDOS (The War of The Worl -
ds), 1953, EUA. De Byron Haski n Verso ci ne-
matogrfi ca da hi stri a de H.G. Wel l s que cau-
sou pni co ao ser transmi ti da pel o rdi o por Or-
son Wel l es em 1938.
M , M , M , M , M , O O O O O V VV VVAPI RO DE DUSSELDORF API RO DE DUSSELDORF API RO DE DUSSELDORF API RO DE DUSSELDORF API RO DE DUSSELDORF ( M) , 1931, Alema-
nha. De Fritz Lang Grupo de criminosos se une
para capturar e julgar um assassino de crianas.
ROTEIRO DO MEDO
MEDO DE ESCURO MEDO DE ESCURO MEDO DE ESCURO MEDO DE ESCURO MEDO DE ESCURO (Afraid Of The Dark), 1991,
Frana/ Inglaterra. De Mark People Menino, cuja
me cega, mergulha em um mundo de medo e
ansi edade quando um psi cti co passa a atacar
mulheres cegas.
MONSTROS S MONSTROS S MONSTROS S MONSTROS S MONSTROS S. A . A . A . A . A. (Monsters, Inc.), 2001, EUA. De
Peter Docter e David Silverman Animao. As
criaturas que assustam as crianas nos armrios e
embaixo das camas so na realidade funcionrios
de uma empresa que utiliza os gritos infantis como
fonte de energia para a cidade dos monstros.
NEBLI NA E SOM BRAS NEBLI NA E SOM BRAS NEBLI NA E SOM BRAS NEBLI NA E SOM BRAS NEBLI NA E SOM BRAS ( Shadows And Fog), 1992,
EUA. De Woody Al l en Os habi tantes de uma
ci dadezi nha abal ada por um mi steri oso assassi -
no deci dem empreender uma caada ao cri mi -
noso. Mas o medo faz com que desconfi em uns
dos outros.
NOSFERA NOSFERA NOSFERA NOSFERA NOSFERAT U T U T U T U T U, ,, ,, O O O O O V VV VVAM PI RO D AM PI RO D AM PI RO D AM PI RO D AM PI RO DA NOI TE A NOI TE A NOI TE A NOI TE A NOI TE (Nosferatu,
The Phanton Der Nacht), 1979, Al emanha/ Fran-
a. De Werner Herzog refi l magem do cl ssi co
de Murnau (1922). Vampi ro espal ha o terror e a
peste ao chegar a Wei mar procura de jovem
pura e i ngnua.
O EXORCI ST O EXORCI ST O EXORCI ST O EXORCI ST O EXORCI STA AA AA (The Exorci st), 1973, EUA. De
Willian Friedkin Exorcista trava uma batalha com
o demni o para l i bertar uma meni na possuda.
Considerado um dos mais assustadores filmes j
produzi dos.
O GABI NETE DO DR. CALI GARI O GABI NETE DO DR. CALI GARI O GABI NETE DO DR. CALI GARI O GABI NETE DO DR. CALI GARI O GABI NETE DO DR. CALI GARI (Das kabinett Des
Doktor Caligari), 1919, Alemanha. De Robert Wi-
ene Filme que deu origem ao Expressionismo ale-
mo. Misterioso hipnotizador suspeito de uma
srie de assassinatos.
O I LUMI NADO O I LUMI NADO O I LUMI NADO O I LUMI NADO O I LUMI NADO (The Shining), 1980, EUA/ Ingla-
terra. De Stanley Kubrick Escritor desemprega-
do se muda para hotel abandonado com a mulher
e o filho. Aos poucos ele comea a enlouquecer e
se torna uma ameaa para sua famlia.
O I NV O I NV O I NV O I NV O I NVASOR ASOR ASOR ASOR ASOR, 2001, Brasil. De Beto Brant Dois
amigos contratam um matador para assassinar seu
scio. Depois do crime praticado o assassino inva-
de suas vidas e um deles passa a sofrer com o medo
e o remorso.
O SALRI O DO M EDO O SALRI O DO M EDO O SALRI O DO M EDO O SALRI O DO M EDO O SALRI O DO M EDO (Le Sal ai re De La Peur),
1953, Frana. De Henri-Georges Clouzot Qua-
tro estrangeiros presos em vilarejo centro-ameri-
cano acei tam por uma recompensa de doi s mi l
dlares a tarefa de atravessar o pas dirigindo dois
caminhes carregados de nitroglicerina.
O STI MO SELO O STI MO SELO O STI MO SELO O STI MO SELO O STI MO SELO (Det Sjunde Inseglet), 1957, Su-
cia . De Ingmar Bergman Cavaleiro Cruzado joga
xadrez com a morte para adiar sua pena at retor-
nar ao lar. Ele encontra seu pas entregue ao fana-
tismo e desesperado pela fome e pela peste.
O SEXT O SEXT O SEXT O SEXT O SEXTO SENTI DO O SENTI DO O SENTI DO O SENTI DO O SENTI DO (The Sixth Sense), 1999, EUA.
De M. Night Shyamalan Menino assustado com
sua capacidade de enxergar os mortos recebe a aju-
da de psicanalista com atormentado passado.
PSI COSE PSI COSE PSI COSE PSI COSE PSI COSE (Psycho), 1960, EUA. De Alfred Hi-
tchcock Mulher se hospeda em lgubre motel
de beira de estrada. Um clssico do suspense.
REPULSA REPULSA REPULSA REPULSA REPULSA A AA AA O SEXO O SEXO O SEXO O SEXO O SEXO (Repul si on), 1965, I ngl ater-
ra. De Roman Pol anski Mul her perturbada e
sozi nha em apartamento v seus medos vi rem
t ona quando passa a no di f erenci ar del ri o
e real i dade.
SEM MEDO DE SEM MEDO DE SEM MEDO DE SEM MEDO DE SEM MEDO DE VI VER VI VER VI VER VI VER VI VER (Fearless), 1993, EUA. De
Peter Weir Depois de sobreviver a terrvel aci-
dente areo, homem acredita ser invulnervel e
passa a arriscar sua vida continuamente.
SOB O DOM I N O DO M EDO SOB O DOM I N O DO M EDO SOB O DOM I N O DO M EDO SOB O DOM I N O DO M EDO SOB O DOM I N O DO M EDO (Straw Dogs), 1971,
EUA. De Sam Pecki npah Pacato professor se
muda com a esposa para vilarejo escocs onde sofre
a hostilidade de alguns jovens locais. A teso e as
agresses crescem at um desfecho violento.
UM CORPO QUE CAI UM CORPO QUE CAI UM CORPO QUE CAI UM CORPO QUE CAI UM CORPO QUE CAI (Vertigo), 1958, EUA. De Al-
fred Hitchcock Detetive que tem fobia de altura
contratado para vigiar uma jovem, suicida em
potenci al .
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
32
No ensaio A m o r e m ed o , Mrio de An-
drade faz com lvares de Azevedo o mesmo
que o modernismo com Augusto dos Anjos:
ignorar o antecipatrio de uma potica. lva-
res continuava a ser apenas o lacrimoso pere-
ne e Augusto o poeta do hediondo, mas na
Paulicia de 1850 algum j gra-
fi tava esses versos: Escrevo na
paredeasminhasrimas/ Depainis
a carvo adorno asruas, algum
no Rio-1900 j falava dos ann-
cios das casas de comrcio e da
cara geral dos edifcios.
S mais frente ser passa-
do recibo: Antonio Candido vai
consi derar l vares o primeiro,
quaseo nico antes do modernismo,
a dar categoria potica ao prosas-
mo cotidiano (o que seria omitir
August o), enquant o Ferrei ra
Gullar acredita que a poesia de
Augusto opera uma revoluo.
Comela, nossa poesia passa a fa-
lar da vida real, comum (o que
seria esquecer lvares). Entre pa-
A CASA-FANTASMA DE
rnteses: no elogio ou na crtica, na vida ou
na obra, ambos destinados ao desacerto.
O presente artigo promove, em meio aos
desacertos, o encontro da arte de dois anjos,
par resultante da posio mpar que ocupam
nas respectivas escolas, o Romantismo e o Sim-
bolismo. No apenas porque antecipassem o
prosasmo Gregrio de Matos o fez bem an-
tes e mais francamente. mpar sua posio
mesmo e sobretudo naquilo que tm de arcai-
co e carcomido, vistos de outro ngulo. luz
do que Augusto chama a solidariedadesubjeti-
va/ detodasasespciessofredoras e lvares v
como Duasalmasquemoramnascavernasde
umcrebro pouco maisou menosdepoeta, eles se
tornam contemporneos extemporneos de
ns e entre si.
Atravs do mdium da crtica, Augusto
lana o grito do seu livro Eu para lvares:
E haja s amizadeverdadeira deuma caveira para
outra caveira/ Do meu sepulcro para o teu sepul-
cro?! Antes depois da morte do que nunca.
lvares confirma o local de encontro: Ami-
zade! Ondea viste? Foi acaso/ No escuro cemit-
rio dejoelhos/ Sobreo torro queabriu a p a
fresco? A hora a hora da meia-noite que apa-
vora. Efetivamente, ao pedido de lvares por
libao, traz fogo edois charutos/ E na mesa de
estudo acendea lmpada, um gesto de Augusto
estabelece o contato: Toma umfsforo, acende
teu cigarro.
Psicografia? No a da pessoa; talvez a de
Pessoa. No a psicografia realizada por Jorge
Rizzini e Chico Xavier com Augusto dos An-
jos, mas a autopsicografia por Fernando Pes-
soa e seus heternimos. Mais precisamente,
uma interpsicografia de texto: os processos
mentais dos poetas de Verso s n ti m o s e I d i -
as n ti m as gerando a intimidade intertextual,
onde o dado biogrfico o menino autodi-
data que, nascido emmeio deavisos sobrena-
turais ealmas do outro mundo num engenho
da Paraba, sofrer o vaticnio de que Este
menino no secria (informaes de Magalhes
Jr. sobre Augusto dos Anjos), ou o estudante
paulista que prenuncia o ano de sua morte,
ocorrida num domingo da Ressurreio, um
ms aps queda de cavalo etc... etc, s im-
porta se relacionado ao processo de criao, que
Augusto define por uma srieindescritvel defe-
nmenosnervosos e lvares por
vibraesconvulsas. A vida en-
quant o met al i nguagem, t al
como expresso por Augusto em
O p o eta d o h ed i o n d o :
Emalucinatrias cavalga-
das,/ Eu sinto ento, sondando-
mea conscincia,/ A ultra-inqui-
sitorial clarividncia/ Detodasas
neuronasacordadas(...)/ Eu sou
aquelequeficou sozinho, cantan-
do sobreosossosdo caminho/ A
poesia detudo quanto morto.
Nesse senti do, um texto
pode ser cavalo de outro, na
medi da em que estabel ece a
condio objetiva entre subje-
tividades, seja a intra-subjetivi-
dade de um mesmo autor, caso
RI CARDO OI TI CI CA
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
FOTOGRAFIAS DE CELSO BRANDO
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
33
do poema A u to p si co grafi a e dos heternimos
de Pessoa, seja a intersubjetividade de autores
distintos. M eu so n h o , poema de lvares de
Azevedo, possibilita a leitura dos dois nveis
de subjetividades no dilogo entre as persona-
gens Eu e O fantasma.
Atormentado pelo galope agourento, per-
gunta o Eu:
Cavaleiro, quems? Quemistrio/ Quemte
fora da morteno imprio/ Pela noiteassombrada
a vagar?
Responde o fantasma:
Sou o sonho da tua esperana,/ Tua febreque
nunca descansa,/ O delrio queteh dematar.
A i ntra-subjeti vi dade:
lvares ao mesmo tempo
o Eu e o fantasma, uni-
ficados pela morte aps a
queda de caval o. A febre
que deveras sente j estava
em alto grau no poema. Per-
meia a cavalgada ficcional
e a cavalgada verdadeira a
mesma pulso que o teria
feito escrever, na parede de
seu quarto, o ano de sua
morte, ao lado dos nomes
de colegas de faculdade de
quem fez o elogio fnebre.
A intersubjetividade: o ca-
rter dialgico do texto pos-
si bi l i t ar a i nt erl ocuo
com Augusto dos Anjos,
meio sculo depois, quan-
do este, cavalgando, se diz
o cantor de tudo quanto morto. O Eu e o
fantasma tambm so Augusto dos Anjos,
o poeta do Eu. No alucinado galope do tempo
esse cavalo deeletricidade, para Augusto , os
dois poetas emparelham como seDeusou Sat
dissesse-lhes:/ Correi semmaisparar (ainda Eros e
Tnatos em lvares), at o encontro virtual das
paralelas na casa-fantasma de um hbrido lva-
res dos Anjos.
Pel o cami nho, toda uma fauna em co-
mum: corvos, cobras, sapos, lagartixas, mos-
cas, at o indefectvel verme da ltima subs-
tncia. Animal domstico por excelncia, o co
assume propores de Crbero, tanto em um
(E latiu como umco mordendo umsculo) quan-
to em outro (E ir assim, pelossculosadiante,/
Latindo a esquisitssima prosdia), assim como
o cavalo ser da estirpe de Ucrnio, a monta-
ria cantada por Lord Byron. E antes mesmo
de Baudelaire comparar a raa dos poetas do
inadaptado albatroz, cujas asas de gigante o
impedem de andar, lvares de Azevedo j v
o vate como uma guia nastrevas tropeava e
caa, em muito diferente da guia condoreira
do romantismo. Na casa de lvares dos An-
jos, h pouso para Poe, conhaque para Byron,
absinto para Baudelaire... e h Mary Shelley.
Arrombada a porta como a uma tumba
Cuidado, leitor, ao voltar essaspginas , damos
com o corpo da obra. Poetas, amanh ao meu ca-
dver/ Minha tripa cortai maissonorosa, diz o bi-
lhete no bolso de um. Tome, Dr., esta tesoura... e
corteminha singularssima pessoa, o que vem
no bolso do outro. A autpsia do texto se faz em
rins, trax, intestino, tripas, estmago, tbia, f-
mur despojos encontrados na caixa-livro de
ambos. Aqui o pronturio de um: Foi-lhepalcio
o hospital, a esse/ Cuja fronteera umtrono poesia;
ali o pronturio do outro: O corao do poeta um
hospital/ Ondemorreramtodososdoentes. Masne-
nhuma visita deste mundo. Pudera: se um no
amado, Meu Deus! Ningummeamou!, o outro
tambm no ama: O amor, quando virei por fima
am-lo!. S o tmulo lhes ser alcova para en-
contros: Eis-tea, prostituda aosvermes/ Ques te
mordemcomseusagrosbeijos. E ainda: Ser meretriz
depoisdo tmulo/ (...) Oferecer-se
bicharia infame/ Coma terra do
sepulcro a encher-lheosolhos.
A recepo de Augusto dos
Anjos e lvares de Azevedo
palco, ela tambm, da disputa
que se estabelece no interior da
obra, resultando em repulsa e
atrao. O que Antonio Candi-
do diz de lvares vale para Au-
gusto: Ou nosapegamosa sua
obra, passando sobredefeitoselimi-
taesquea deformam, ou a rejei-
tamoscomveemncia, rejeitando a
magia quedela emana.(...) a eles
nosdado amar ou repelir. Voc
pode entender a obra de lva-
res como falsificaessistemati-
zadasinconscientemente (Mrio
de Andrade) e como falseamen-
to do real (Ferreira Gullar) ou,
maneira da referida autopsicografia de Pessoa,
como fingimento: Escutai-me, leitor, a minha his-
tria/ fantasia, sim, pormamei-a. Se assim for,
a fantasia leva ao fantasma e a obra de ambos
ser lida como quem, no engenho da literatura,
dasrunasdeuma casa assisteao desmoronamento
deoutra casa.
RICARDO OITICICA Doutor em Letrase pesquisador da Fundao
Biblioteca Nacional
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
LVARES DOS ANJ OS
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
34
PAULO CONDI NI
E ENTO...
bateu surdo e apressado no peito.
Era tudo o que ele no queria mais ter que
fazer. Subir naquele nibus, que j fora a sua
alegria, e precisar olhar para a cara repulsiva de
Bruno, um garoto atarracado da quarta srie que
gostava de se divertir s custas dos menores.
Ele detestava ver algum se aproveitar dos
mais fracos.
Lembrou de como o pai costumava fazer
com sua me quando ela o contrariava. Era
sufi ci ente perceber seu descontentamento
quando ele chegava em casa com os olhos ver-
melhos e a voz empastada.
O nibus apontou no fim da rua.
Ele se encolheu e sentiu o corpo tremer.
Na memri a, vi u os ol hos de sua me en-
sombrear.
Como num filme, observou o nibus apro-
ximar-se lentamente, parecendo no querer ga-
nhar terreno, como que a retardar ao mximo
o inevitvel.
O pouco leite que havia tomado rebelou-
se, querendo fugir.
O corao disparou e a coisa entalada na
garganta aumentou.
Finalmente o nibus parou.
Subiu o primeiro degrau...
Do l t i mo banco, a voz esgani ada de
Bruno:
Entra depressa, Lulu!
A turma, ao seu lado, gargalhou.
Seu rost o ardeu. O l ei t e quase chegou
boca.
Mesmo assim entrou no corredor e o ni-
bus voltou a andar.
Observou os rostos alterados pelo riso da
turma dos meninos maiores, e procurou seu
lugar para sentar.
E ento?... Estamos conversados? O
pai perguntou. E em seguida informou:
Apanhou na rua, apanha em casa.
Luizinho sentiu o corao apertado. As per-
nas tremeram e uma coisa entalou na garganta.
E no adianta ficar me olhando com es-
tes olhos esbugalhados. O pai continuou,
sem dar conta do desespero do menino.
Voc entendeu o que eu disse?
Sim... ele respondeu, num fio de voz.
Assim est melhor. O pai falou, olhan-
do-o muito srio, e arrematou. Agora trate
de ir para a escola.
A me, parada na porta da cozinha, perce-
beu a mozinha trmula buscar a ala da mo-
chila amarela que ele adorava. Mas hoje, ela
tambm notou, Luizinho no demonstrava o
menor prazer em coloc-la s costas.
Tchau, pai ! El e fal ou sem ol har para
o seu l ado. Tchau, me! E l he endere-
ou um ol har de cortar o corao.
Ela bem que gostaria de dizer alguma coisa
para lhe transmitir um pouco de confiana,
mas sabia que se abrisse a boca o marido iria
ficar bravo. Por isso calou e acompanhou a
sada do filho, com um enorme sentimento
de culpa.
O pai voltou ao jornal e ao caf da manh.
Luizinho saiu para a rua.
A me foi chorar escondida na rea de servio.
Na calada, o vento fresco da manh arre-
piou a penugem dos seus braos finos de me-
nino de oito anos.
Do outro lado da rua, a moa bonita que
via sair para o trabalho, todas as manhs, fe-
chou a porta do carro e arrancou apressada.
Luizinho olhou para a sua esquerda, esperan-
do ver o nibus da escola.
A qualquer momento ele iria chegar.
A boca ficou ainda mais seca. O corao
I
L
U
S
T
R
A
O
L
U
I
Z
A
G
N
E
R
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
34
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
35
Vozes, indistintas, gritavam: Lulu! Lulu!
Um zumbido insuportvel, na cabea, qua-
se o impedia de andar.
As crianas, sentadas nos bancos da frente,
fingiam no estar vendo nem ouvindo nada.
Animado pelo sucesso, Bruno levantou e
foi para o corredor, rindo ensandecido...
O motorista olhou pelo retrovisor e sacu-
diu a cabea.
O nibus passou por um buraco, na aveni-
da, e balanou forte.
Luizinho levantou os olhos e viu Bruno
andar em sua direo, com os olhos congesti-
onados, corpo gingando, a boca entreaberta e
lembrou do seu pai chegando em casa.
Na rea de servi os a me chorando, en-
col hi da...
E ento, como uma centelha, a coisa enta-
lada na garganta se libertou e, com os olhos
nublados pelas lgrimas, correu pelo corredor
em direo ao brutamontes e desferiu um chute
violento entre suas pernas.
Bruno gritou fino e dobrou o corpo.
A turma do fundo calou-se, surpresa.
Bruno sentou-se no cho a chorar.
Uma voz indistinta gritou:
Chora, Bru Bru !
E as crianas dos bancos da frente sauda-
ram com gritos, assobios e muitas palmas...
PAULO CONDINI Jornalista, ator e produtor, foi editor da Melho-
ramentose da Carthago & Forte. Escreveu S co rro ; O s fi lh o s d o
ri o ; Ju ju e o u n i c rn i o .
P R O D U E S E D I T O R I A I S
manati@uninet.com.br tel/fax: 21 2512-4810
Todo mundo pergunta, o que quer dizer Manati. A palavra de ori-
gem caraba, significa gnio da gua ou sereia e um dos nomes
populares do peixe-boi-marinho.
A editora Manati nasceu em mares brasileiros, mas esse apenas
um dos motivos de seu nome. Quem conhece nossos livros sabe que
Manati quer dizer muito mais...
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
Muitosmedosa gentetem
eoutrosa genteno tem.
Osmedosso como
olhosdegato
brilhando no escuro.
H, por exemplo, o medo do escuro
etudo o queo escuro tem:
lobo mau, floresta virgem, alma
do outro mundo, portasfechadas,
cavernas, pores, ai quepavor!
O escuro temmosdeveludo
quefazemo corao rolar
pela escada,
pela rua,
pela noiteafora
como umcavalo semfreio
Osmedosso como
floressecretas,
coressecretas,
invisveisvaga-lumes
marcando o caminho.
Isso a gentefaz,
isso a genteno faz.
Como umrelgio oculto.
T A N T O S M E D O S
E O U T R A S C O R A G E N S
(fragmentos)
Isso a gentefaz,
isso a genteno faz.
Quea vida umjogo
assim,
detantosmedos
eoutrascoragens.
Do livro Tantosmedoseoutrascoragens, Ed. FTD.
ROSEANA MURRAY Poeta. Entresuasobrasesto: Manual
dadelicadeza; Jardins; Paisagens.
Tenho muito medo
dasfolhasmortas,
medo dosprados
cheiosdeorvalho.
eu vou dormir;
seno medespertas,
deixarei a teu lado meu corao frio.
FEDERICO GARCA LORCA 1898-1936 Poeta e dra-
maturgo espanhol.
Aumentam-se-meento osgrandes
medos.
O hemisfrio lunar seergueeseabaixa
Numdesenvolvimento deborracha,
Variando ao mecnica dosdedos!
Augusto dosAnjos1884-1914 Poeta. Publicou ape-
nasum livro em vida: E u .
TANTOS MEDOS
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
36
O MEDO-AFIRMATIVO
EM CLARICE LISPECTOR
ROBERTO CORRA
DOS SANTOS
A vi da exi ge uma l egi o de senti mentos
a serem pol i dos para tornar-se el a mesma
uma obra; em certo senti do uma obra-de-
arte. Ou seja, al go que vagarosamente e com
del i cadeza i r sendo construdo, de modo a
ampl i ar a harmoni a dos afetos de que se
formado e de que se formador. Para tanto,
reti ra-se dos prpri os mei os de subjeti vao
(experi nci a, encontros, perdas, exame do
trnsi to entre os seres, os estados e os pro-
cessos sociais) a matria a modelar-se ao abrir-
se ao sopro do espri to: o sopro consi ste no
nome outro para desi gnar a al ma a rede da
organi ci dade afeti va.
Dentre os senti mentos a abri garem a sa-
bedori a para que um ser ampl i e seus espa-
os, movi mentos, gestos e percepes, en-
contra-se e a afi rmati va pode parecer para-
doxal o medo: o medo, em seu grau justo
e necessri o (no al m do l i mi te do ti l
vi da), permi te que a fora natural (o bi cho
que somos) se al astre e detenha os avanos
i mpedi dores do que se costuma chamar de
entendi mento col eti vo com suas regras ge-
rai s convenci onadas por um outro severo e
restri ti vo da vontade de si ngul ari zao, a l e-
gti ma vontade do experi mento e das meta-
morfoses das potnci as do corpo cri ador.
O ani mal , por ter medo (poi s o medo
procede da mai s soberana das foras a de
vi ver), desenvol ve e agua seus senti dos (o
tato, o chei ro, o ouvi r, a vi so e a i ntel i gn-
ci a do reconheci mento para mover seu mun-
do l i vre e atento). Assi m, ampl i am-se as ha-
bi l i dades do agi r: recuar, sal tar, observar, co-
mer, subi r, desfazer-se da vi si bi l i dade, voar,
migrar. Superar, portanto, a iminncia do pe-
ri go. Ter medo como al avanca para vencer:
vencer-se. O medo, nesse grau afi rmati vo e
constituinte, ser sempre imprescindvel para
a base sl i da do dnamo do cresci mento: o
i nvesti gar. Nesse ato, o preparo, a pesqui sa,
o reconhecer e o reel aborar. Ao saber o bom
uso da i nvesti gao, o medo, de constrange-
dor, torna-se auxi l i ar e, ento, j no permi -
te que el e o medo se erga a tal al tura que
gere o terror, o pni co, a comportar, conse-
qentemente, o afrouxamento das vi rtudes
da al egri a. Esta, em si mesma, l i bertadora.
Crescido desproporcionalmente, o medo
l evari a i gnornci a e ceguei ra e ao empa-
redamento, consti tui ndo um el emento emo-
ci onal i ni bi dor, a cons-
t ranger e a paral i sar.
Como porm, como a
vi da quer vi da, a educa-
o dos sensos dever
convergi r para que se
mani feste em ns a ou-
tra face do medo: a au-
dci a. Os doi s termos
i ntegrantes de um ni co
e mesmo si gno. Ir: por
medo. Fazer: por medo.
Ousar: por medo. E
l ogo nos desdobra-
mentos desses atos ul -
trapassar o medo. Revert-l o, dobr-l o nos-
sa i mperi osa energi a vi tal . A cada novo el e-
mento de confronto (o confronto uma das
tcni cas do aprendi zado do medo posto
nossa serventia), saber que tudo ocorrer pro-
vi sori amente, poi s este o medo reatual i -
za-se sempre sob di versos formatos. Ora me-
nos, ora mai s fantasmti cos.
Se assi m , deve-se , frente a al guma de
suas apari es, dar-l he o crdi to de i nvocar
no corpo, e novamente, as reaes qumi cas
de vi brantes ati tudes cri ati vas presentes nas
respostas pol ti cas e, tantas vezes, estti cas.
O medo de fal har, em um pal co, abre cadei -
as de fl uxos pel os quai s se movem substn-
ci as poderosas de uma i mantao e de uma
fortal eci da bel eza que, do l ado de quem as-
si ste, no se sabe de onde ter nasci do tal
gi gante e di vi no domni o. Tai s substnci as
foram exi gi das para a pl eni tude, provi sri a
qual rel mpago, de um desti no al i , em el e-
vada i ntensi dade da arte, daquel a a torcer e
a model ar o medo. desse modo que o
medo se i ntegra ao fazer de Cl ari ce Li spec-
tor: o medo cri a, no i nterdi ta. Da a obra.
Sua radi cal coragem. Se medo h, ser para
desenh-l o, tec-l o para a construo dessa
ou daquel a personagem, i nteressando mai s
especi al mente o suti l vi -
gor a mi nuci osament e
construi r-se na aparente
e i ni ci al ti mi dez de al gu-
mas del as.
Bem se ver, na gene-
alogia clariceana, o que se
segue ao medo: a luta, o
sal to, o i nquebrantvel
exame da vida mltipla.
O medo em A p ai xo se-
gu n d o G . H ., face figu-
ra histrica, real e imagi-
nria da barata, constitui
a usina de fatura de uma
entretecida grade de afeces anmicas que
cruamente se abre a esse-outro-que-l: o ns.
Esse, sim, intimado a seguir, a ser rpido (qual
sapiente animal), e entender, at certo pon-
to, aquilo-que-o-espreita, gestando sua gil
artesania de simultaneamente entregar-se e do-
mar: trata-se, em Clarice, de um curso para
fazer-se soberano. Estar no e estar para alm
do medo. So bem incomuns os modos de
Clarice expor o medo. Descrevem-se, em A
paixo, mscaras do medo. Apresentam-se al-
gumas delas a fim de que possam servir de
mnima seleta para uma antropologia literria
do medo, a histria de suas emergncias. Su-
blinhe-se parte de como este se encontra por
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
36
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
37
A LNGUA TRAVADA
Toda exci tao se al i menta de an-
gsti as subl i madas. A exci tao da vi a-
gem tem muito de angstias reprimidas,
uma a uma superadas: a angsti a de se
perder, a do esqueci mento, a da novi -
dade. Podemos enumerar outras, mas a
angsti a mai s especfi ca das vi agens
certamente a angstia lingstica. Quan-
do desembarcamos sem preparao em
terra estrangei ra, o pri mei ro suor fri o
que nos percorre o da descoberta bru-
tal de que a l ngua no fl ui e a comuni -
cao mai s el ementar torna-se sbi ta e
espantosamente probl emti ca. As mai s
banai s pl acas de si nal i zao me so
eni gmas absol utos. Concebi das para o
usuri o, eu as percebo, ao contrri o,
como ameaas: ameaas do sem-senti -
do, do contra-senso, da deri va, da mar-
gi nal i zao, da excl uso.
Fazer apelo a algum no me me-
nos complexo, quer dizer: horripilante.
Como perguntar meu caminho, como
entender a resposta? O acmulo de an-
gstias provoca verdadeiro pnico. Vivo
a experincia de um mundo opaco, ci-
frado, cujo sentido se esquiva. Disso re-
sul ta um extraordi nri o embarao do
nosso funcionamento, inteiramente des-
conectado e inadaptado, na fronteira da
paralisia. Eu me infantilizo, reencontran-
do medos arcai cos que remontam ao
meu segundo ano de existncia. Perco
toda autonomia, tudo temo.
Leva tempo recuperar-se dessa terr-
vel experincia. A angstia inicial do ae-
roporto se abranda pouco a pouco em
mania, inquietude, apreenso. Apreen-
so que nos toma todas as vezes em que
devemos nos exprimir nessa lngua es-
trangeira cuja enigmtica alteridade to
profundamente nos transtornou em nos-
sa chegada. Quanto tempo preciso para
vencer este medo de se lanar num fa-
lar que no o nosso? Alguns no o do-
minam jamais. Ele decorre de duas fixa-
es diferentes: a de no se fazer devida-
mente entender e a de se estar exposto
ao jul gamento dos outros. A pri mei ra
pe em risco o liame social que se esta-
belece originalmente a partir da comu-
nicao lingstica. A outra ameaa nos-
sa prpria integridade e nossa identida-
de: me arrisco a parecer ao interlocutor
um triste brbaro, um falante rudimen-
tar, um comunicador frustrado e inibi-
do, um inculto, um primitivo obtuso.
E se o aprendizado de lnguas vivas
comeasse por uma boa psicoterapia, exi-
gindo-se dos professores, de entrada, s-
rias referncias em psicologia?
DIDIER LAMAISON Tradutor em lnguafrancesadealguns
dosmaisimportantesescritoresbrasileiros, como Machado
deAssis, CarlosDrummond deAndradeeFerreiraGullar.
Tenho medo do sono, o tnel que me esconde,
Cheio de vago horror, levando no sei aonde;
Do infinito, janela, eu gozo os cruis prazeres,
O ABISMO (Fragmento)
E meu esprito, brio afeito ao desvario,
Ao nada inveja a insensibilidadeeo frio.
- Ah, no sair jamais dos Nmeros eSeres.
CHARLES BAUDELAIRE 1821-1867 Poeta e escritor francs.
DI DI ER LAMAI SON
Ascoisasso para temer somente
queencerremcontra algumpoder demal;
asoutrasno, no causamdano gente.
DANTE AL I GHI ERE 1265- 1321 Poet a i t al i ano.
Clarice, desenhado em frases de diamante:
Medo do quenovo; medo deviver o queno
seentende; medo emrelao: a ser; medo deir vi-
vendo o quefor sendo; medo deno pertencer mais
a umsistema; medo dequeo nosso modo no faa
sentido. E logo depois, diante da barata, afir-
ma-se: Estava melibertando da minha morali-
dade embora isso medessemedo, curiosidadee
fascnio. Ou, para ao medo contrapor-se: seeu
for o mundo no terei medo (sea genteo mundo,
a gentemovida por umdelicado radar queguia).
E medos como: o medo do amor; o medo demi-
nha mudez final na parede.
No ampl o rai o dos medos, prope quese
deveria dizer assim eleest muito feliz porque
finalmentefoi desiludido. O queera antes no
era bom. Isso em razo de que, afi rmar, ser
necessri o: correr o sagrado risco do acaso; subs-
tituir o destino pela possibilidade; perder-se; ir
achando enemmesmo saber o quefazer do quese
for achando; abandonar a terceira perna (com
duas, anda-se; a terceira prende, estabiliza). E a
aprendi zagem da mai s forte expresso da
bravura, a que nasce do no temer o medo .
Arri scar: arriscar porqueconfio na minha covar-
dia futura, eser minha covardia futura queme
organizar denovo empessoa; agir faceao hor-
ror, j queo horror sou eu emdiantedas coisas.
E, para fi ndar esta antol ogi a mi da, que
fi que a i magem i nscri ta em: seuma pessoa ti-
ver coragemdelargar os sentimentos descobrea
ampla vida deumsilncio extremamenteocupa-
do, o mesmo queexistena barata, o mesmo nos
astros, o mesmo emsi prprio. Face a tudo, es-
taro no l i vro o convi te e a ordem d-me
tua mo. A sentena repete-se e, sobrepon-
do-se ao pedi do de socorro, arrasta-nos para
que conheamos os sti os dos medos poten-
tes: d-me (l ei tor) tua mo.
Rober to Cor r a dos Santos Professor dos cursos de ps-gradua-
o da Faculdade de Letrasda PUC-Rio. Autor de L en d o C lari ce
L i sp ecto r
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
38
PERSEGUI NDO O SUSTO
Mas o que provoca o medo? E quai s se-
ri am os pri nci pai s el ementos das narrati vas
de terror? Comecemos por i r no rastro de
Howard Phi l l i ps Lovecraft. Nasci do em 1870
e fal eci do em 1937, escri tor e ensasta, em
seu l ongo ensai o O h o rro r so b ren atu ral n a
li teratu ra (Franci sco Al ves, 1987), formu-
l ou uma estti ca da hi stri a do horror so-
brenatural . O ensai o surgi u encomendado
por um ami go, que pretendi a publ i c-l o em
uma revi sta especi al i zada (1924), e reveste-
se de especial importncia por apresentar um
estudo de um escri tor que tambm fi cci o-
ni sta entre as obras de Lovecraft si tua-se
A tu m b a, consi derada uma obra-pri ma da
l i teratura de terror.
O discurso de O h o rro r so b ren atu ral
n a li teratu ra se constri ao arrolar obras e
mais obras, como se fosse um catlogo, s
que fortemente amarrado, numa unidade or-
gni ca. O autor reconta os l i vros que l eu,
unindo-os na sua busca principal, que a da
psicologia do medo. A idia perseguida ao
longo do ensaio que a emoo mais forte e
mais antiga do mundo o medo, e, dentro
dessa emoo, a mais forte seria a do medo
do desconhecido. Lovecraft procura mostrar
que a atrao pelo espectral e pelo macabro
exige do leitor uma certa dose de imaginao
e capacidade de desligamento da vida cotidi-
ana. E aponta que relativamente poucos so
os que se deixam levar por uma seduo pelo
desconheci do.
Nas narrativas de horror, para Lovecraft,
o mais importante seria o clima, a atmosfera.
Assim, o nico teste da literatura verdadeira
de horror saber se suscita no leitor um sen-
timento de profunda apreenso, uma atitude
sutil de escuta ofegante. E esse sentimento se
PARA ALM
ROSA GENS
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
SOB O DOM NI O DO MEDO
Corao acel erado. Respi rao entrecor-
tada. Um cal afri o. Um tremer de pernas.
Uma gota de suor que chega e cai . So mui -
tas as reaes fsi cas a si tuaes de medo que
aparecem no coti di ano e se esprai am. Por
vezes, transformam-se em narrati vas, vi ndo
a se consti tui r em um ci rcui to de textos que
vai sendo aci onado oral mente e reafi rma
as reaes de susto. No entanto, o estmu-
l o que defl agra o medo pode ser uma nar-
rati va escri ta, capaz de manter o l ei tor em
estado de al erta e l anar adrenal i na em
seu corpo.
Afinal, por que dar ateno a narrati-
vas que se centralizam no medo? Basta
pensar, inicialmente, na adeso que os
jovens tm apresentado, ao longo dos
ltimos anos, s obras que se embasam
no medo. Nas trs l ti mas dcadas,
pri nci pal mente, mul ti pl i caram-se l i -
vros e filmes que provocam sensaes
de pavor e, mais do que isso, fazem
do medo o seu tema bsico. Um ar-
repio, um recuo ao toque, uma sen-
sao de nusea, repulsa e pronto:
estamos face ao que no desejva-
mos e impossvel recuar. O hor-
ror, certo, nos causa ameaa. Em
ltima instncia, ameaa o nosso
mundo, que j anda muito amea-
ador. No entanto, por entre pos-
sibilidades de balas perdidas e um
assal to a cada esqui na, podemos
nos dar ao luxo de ficarmos assus-
tados com histrias de vampiros,
lobisomens, monstros, fantasmas...
DETALHES DE O GRITO DE EDVARD MUNCH, 1893
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
39
perpetua. Os textos de terror so muito, mui-
to antigos. O horror csmico aparece em nar-
rativas do mais remoto folclore; as cerimni-
as de conjurao de demnios so comuns
em rituais antigos; tipos e personagens som-
brios de mitos e lendas passaram por sculos,
via tradio oral, e tornaram-se parte da he-
rana permanente da humanidade. Por exem-
plo, a sombra que aparece e reclama o sepul-
tamento de seus ossos, o demnio enamora-
do que vem raptar a amada, ainda viva, o ho-
mem lobo, o mgico imortal, foram narrados
em antigas civilizaes, passaram e se fortifi-
caram na Idade Mdia, para continuarem em
nosso tempo.
NARRANDO O HORROR
So mui tas as narrati vas que causam
medo. Contudo, algumas podem ser entre-
vi stas como matri zes, vi sto que i nauguram
uma certa linhagem. Provocam influncia e
continuam, at hoje, vivas, seja pela leitura,
seja pelo recontar, seja por sua insero em
outras formas de discursos. Todas surgiram
no sculo XIX: F ran k en stei n o u O m o d er-
n o P ro m eteu (1816) , de Mary Shelley; O m -
d i co e o m o n stro o estranho caso do Dr.
Jeckyll e Mr. Hyde (1885), de Robert Louis
Stevenson, e D rcu la (1897) de Bram Stocker.
Vale a pena recordar que as obras ensejaram
mais de cem filmes e, tanto nos desenhos te-
levisivos como nas histrias em quadrinhos,
vemos marcas de seu poder. Tambm nos
RPG e jogos de computador podemos encon-
tr-las. E no toa que comparecem enfei-
xadas em um ni co l i vro publ i cado pel a
Ediouro (2002), traduzidas com cuidado por
Adriana Lisboa.
F ran k en stei n apresenta a possibilidade de
o ser humano criar vida em suma, de se
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
acreditar Deus. Fruto da Cincia, a criatura
formada pelo Dr. Victor Frankenstein desa-
fia a moral, deixando entrever o questiona-
mento dos limites entre o errado, numa es-
pcie de tica de expanso. A narrativa trata
de responsabilidades, entre criadores e cria-
turas, e nada poderia ser mais atual em uma
poca como a nossa, em que a criao de
humanos, atravs da clonagem, tornou-se
uma realidade. D rcu la aciona a idia de
fi ni tude da humani dade, justamente por
apresentar a imortalidade como eixo. O
desdobramento obtido a partir do sangue
remete ao aspecto sexual, mas o erotismo
velado. Em O m d i co e o m o n stro , o
tema da duplicidade comparece e faz com
que um mdico perfeito espcime so-
cial acabe por perder seu senso de na-
turalidade e transforme-se, por meio de
uma poo, em um monstro, capaz de
crimes brutais. Bem e mal aqui travam
uma l ut a dent ro de uma ni ca
cri atura.Nos protagoni stas das trs
obras, concentra-se, manei ra ro-
mntica, o desejo de descobrir a es-
sncia do humano, nelas concreti-
zada a partir de imagens e metfo-
ras. Na verdade, podemos at no
querer entrar em contato com es-
sas personagens, mas elas persis-
tem em nossa cultura justamente
por mostrarem o desconheci do
que nos habita.
Sustos e revel aes so arti f-
ci os dessas obras, e encontram-se
tambm presentes em l endas do
fol cl ore brasi l ei ro, em N o o lh e
atrs d a p o rta, de Li a Nei va, em
P en te d e V n u s, de Hel osa Sei -
xas, nas l endas urbanas que ci rcu-
l am na I nternet e percorrem as
cont i nua
DO SUSTO
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
40
PARA ALM DO SUSTO
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
ci dades, e em muitos outros textos. Tais
narrativas exibem-se, muitas vezes, como ritu-
ais e distores de nossos maiores medos.
CURI OSI DADE E ESQUI VA
O verdadei ro autor de hi stri as de ter-
ror, qual quer que seja a sua di menso, ex-
pl ora os l i mi tes do que as pessoas so capa-
zes de fazer e as frontei ras do que so capa-
zes de experienciar. Assim ele se aventura nos
domni os do caos psi col gi co, desertos emo-
ci onai s, traumas psqui cos, abi smos abertos
pel a i magi nao, hi steri a e l oucura, todos os
el ementos que fi cari am na di vi sa do brba-
ro. As narrati vas de terror mui tas vezes apre-
sentam i magens e fi guras de caos e sofri men-
to, como se temati zassem vri as espci es de
i nferno, tomando a pal avra como exem-
pl o de uma condi o humana extrema.
Trabal hemos um pouco com as pal avras
horror e terror. O horror deri va do l a-
tim horrere: fazer o cabelo se arrepiar. Ou seja,
horri pi l ar: horrori zar, eri ar os cabel os, ar-
repi ar. Vem do l ati m ecl esi sti co horripilare.
O que causa o eri amento dos cabel os.J ter-
ror vi ri a do l ati m terrorem, do tema de terre-
re, espaventar, causar grande medo.Assi m,
numa abordagem eti mol gi ca superfi ci al ,
poderamos aventar a hi ptese de que o
horror uma reao fsi ca, enquanto o ter-
ror seri a uma reao provocada pel o sobre-
natural , pel o desconheci do, a ameaa des-
conheci da. De qual quer forma, as narrati vas
de horror de terror (ou horror) parecem sur-
gi r com a tentati va de encontrar adequados
smbol os e descri es para foras, medos e
energi as pri mi ti vas rel aci onadas morte,
vi da aps a morte, puni o, mal , vi ol nci a e
destrui o.
Convenhamos que, na poca em que vi -
vemos, tornou-se di fci l encontrar quem no
tenha participado de uma experincia de hor-
ror. E, caso tenha a sorte de no a ter vi ven-
ci ado, pel o menos com el a defrontou-se na
mdi a, haja vi sta a profuso de i magens vi o-
l entas que i nundam nosso coti di ano vi a
mei os de comuni cao. Assi m, enquanto
sentamos num sof, cadei ra ou pol trona para
ver tel evi so, confortavel mente recostados,
entram em nosso l ar i magens de guerras, ter-
remotos, assassi natos, em mei o a annci os
de mqui nas de l avar, i ogurtes e carros. Tam-
bm ao abri rmos os jornai s encontramos o
mesmo panorama.
Basta l embrar aci dentes de carros, em
que motori stas quase batem ao tentar ol har
o que aconteceu. Podemos l er neste gesto cu-
ri osi dade ou at mesmo sol i dari edade huma-
na, mas sabemos que no bem i sto que os
move. E nem adi anta afi rmar que esse uma
reao que vi sual i za a real i dade como fi co.
Qual quer que seja o ngul o de abordagem,
conti nua a ser fundamental a i di a de pro-
cura pel o desconheci do, e busca pel a
sensao de susto e repul sa. E, ai n-
da al m, constata-se que as pesso-
as se sentem fascinadas pelo que
l hes causa repul sa.
Ol har o aci dente e, ao
mesmo tempo, desvi ar o
ol har. Ou, como as cri -
anas, espal mar a mo
aberta sobre o rosto e
ver entre os dedos,
negando e procuran-
do a viso. Stephen King nos revela, em seu
prefcio ao volume S o m b ras n a n o i te (Fran-
cisco Alves, 1987), que o leitor de terror jus-
tamente aquele que no consegue desviar o
olhar do acidente. E, ainda, observa que exis-
tem narrativas que mostram o prprio aciden-
te, em detalhes (o que pode ser percebido,
por certos crticos, como mau gosto) e
outras que apenas exibem as ferragens
retorcidas, deixando ao leitor a tarefa de
imaginar o que aconteceu. Para alm do
susto, fica a vontade de pensar mais e
mais sobre o destino humano.
ROSA GENS Professora de Li teratura Brasi l ei ra da Fa-
cul dade de Letras da UFRJ, Coordenadora do Curso
de Especi al i zao em Li teratura Infanti l e Juveni l dessa
i nsti tui o.
E, aqui dentro, o silncio...E este
espanto! eestemedo!
Nsdois...e, entrensdois,
implacvel eforte,
A arredar-medeti, cada vez mais,
a morte...
OLAVO BILAC 1865-1918 Poeta e contista.
DETALHE DE CINZAS DE EDVARD MUNCH, 1894
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
41
AS ABERRAES S
SO SUTIS NO LUSCO-FUSCO
George K. voltou assombrado da Editora
B. Durante o percurso, no mais de trs qua-
dras, ouviu Borges acus-lo de cabotino e Nel-
son, de canalha. J no tentava mais argumen-
tar com os colegas posto que os respeitava. Mas
sentia-se perseguido pelos dois desde que pas-
sou a integrar a lista dos mais vendidos. E eles
eram contundentes, rigorosos e geniais. Como
ignor-los? Como privar-se de to estimulante
convvio? Como no se atormentar?
Perplexo com o sucesso do autor, colhen-
do os louros de seu terceiro romance, decidiu-
se pelo isolamento. Sem entrevistas. Sem lan-
amentos. Sem badalaes. Amante da melhor
literatura, leitor voraz de romances de flego
(lia calhamaos de setecentas pginas no origi-
nal) afligia-se por no conseguir o distanciamen-
to crtico necessrio como seu prprio leitor.
Portador de um super-ego proporcional baixa
auto-estima chegou a pensar em dar por encer-
rada a carreira no auge de seu reconhecimento
como escritor: vendia livros num pas de anal-
fabetos. Como conviver com essa contradio?
H qualquer coisa de podre, brandiu o
bardo ingls. H qualquer coisa...
Que vocao e talento nem sempre cami-
nham juntos, ele sabia. A frase parecia em
mantra involuntrio e reverberava como um
pastor evanglico em sua cabea. George tinha
certeza de que escrevia por vocao. Quanto
ao talento, restavem dvidas. E dvidas.
Em busca de aplacar a angstia, ter (ta-
lento) ou no ser (escritor), George tratou de
construir o seu mundo. Comprou um apar-
tamento de trezentos metros quadrados com
vi sta panormi ca de cento e oi tenta graus.
Nele plantou a sua biblioteca de vinte mil
volumes, classificados, catalogados e limpos,
derrubou paredes e transformou a sala num
imenso escritrio-cenrio onde podia se re-
conhecer. E aos seus.
O espelho prximo entrada, em perspec-
tiva, permitia refletir a sua mesa de trabalho e,
ao mesmo tempo em que criava, assistir a cria-
o. Telas e esculturas contemporneas mes-
cladas memorabilia e aos objetos pessoais da-
vam um toque mais ousado ao ambiente. Tra-
tava-se de um homem culto e vulnervel.
Como a extenso do imvel exigia manu-
teno George mantinha a empregada. Mas sua
presena lhe era por demais eloqente. Simples-
mente avist-la o desconcentrava e perturbava
a ponto de paralis-lo. No conseguia escrever
uma linha sequer. A soluo foi inverter o fuso
horrio. Acordava s dezessete horas e reco-
lhia-se por volta das cinco. Na calada da noite,
sem rudos , sem interrupes, pde enfim ala-
vancar sua obra: um novo romance a cada dois
anos e um livro de contos a cada trs.
Antes de estabelecer a rotina, George vi-
via estressado, tenso, triste. Sentia-se diferente
e julgado pelos outros. Durante anos as visitas
dirias ao analista, seu nico interlocutor, eram
fundamentais para a criao. O fato de pagar
pela conversa o eximia de culpas face bruta-
lidade de suas revelaes. Mas com o tempo
as sesses de anlise ficaram rarefeitas, uma vez
que a anlise tem por princpio o fim das ilu-
ses. K. sabia que era um labirinto mas torna-
ria-se um precipcio com os dois ps no cho.
Em casa nunca estava s. O sistema de ilu-
minao sem luz no teto provocava sombras
em diferentes pontos da sala. Vultos de tama-
nhos diferentes reproduzindo a sua imagem
davam-lhe uma sensao de proteo. Ficavam
em silncio, velando seu dia-a-dia. E intimida-
vam de certo modo a verve ferina dos colegas
estampados em encadernaes vistosas nas es-
tantes, capazes de fazer um estardalhao em
seus tmpanos.
O telefone tocou. E ouviu atravs da se-
cretria eletrnica o recado do editor. Gosta-
ria de marcar uma conversa com a agente lite-
rria em Berlim, promessa de carreira no exte-
rior. H qualquer coisa de podre, sussurrou o
provocativo bardo. Ao que George, volatiliza-
do, vestiu a carapua. Talvez seja apenas uma
jogada marketeira da Editora. Porque ao que me
consta no cabe Editora nacional essa inter-
mediao. O silncio do bardo era tambm uma
sentena. E o prenncio de uma rebelio.
Liderados por Borges e Nelson foram pou-
co a pouco aderindo outras vozes, Conrad, Fau-
l kner, Machado, Proust, Dostoi evski , Rosa,
Stendhal, Cortazar, Shakespeare, Kafka, Sylvia,
Baudel ai re, Drummond, Fl aubert, Vi rgi ni a,
Freud, Sfocles, Fante, Clarice, Beckett, Cli-
ne, Pessoa entre milhares de mestres formando
um peloto rumo redeno pela palavra.
K. pela primeira vez no teve dvidas. Es-
tava escrito.
Abriu as janelas e caiu na real.
THEREZA LESSA
Escritora.
Autora de P atavi n a.
THEREZA LESSA
D
I
V
U
L
G
A
O
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
A caver na dos Ti t s. Ivani r
Cal ado. Ed. Recor d. Coisas estra-
nhas comeam a acontecer em
moderno shoppingcenter recm-
inaugurado.
A coi sa. St ephen Ki ng. Ed.
Obj eti va. O atual metre do terror
nos leva ao tempo em que acredi-
tvamos em nossos pesadelos.
A cr i stal ei r a. Gr azi el a Boza-
no Hetzel . Ed. Edi our o. Menina
amedrontada pelas brigas doms-
ticas procura um abrigo para fugir
das discusses.
A mal di o de Sar nath/ Da-
gon/ Nas montanhas da l oucur a/
O hor r or em Red Hook. H.P. Lo-
vecr aft. Ed. Il umi nur as. Nas his-
trias deste grande mestre do hor-
ror o mal, o pior e o terrvel apa-
recem de forma fantstica e per-
t ur bador a.
A peste. Al ber t Camus. Ed.
Recor d. Uma cidade colocada em
situao limite: o pavor causado
pela peste devastadora.
A tem coi sa. Gr azi el a Boza-
no Hetzel . Ed. Manati . A macaca
Dalila decide investigar a estranha
lei que probe os animais de ter
rabo.
HISTRIAS DE
Apr endendo a vi ver. Jl i o
Eml i o Br az. Ed. Edi our o. Claudia
e Isabel descobrem que a me foi
contaminada com o vrus do HIV
pelo prprio pai. Juntas tm de
enfrentar a dor, o medo e o pre-
conceito.
Ar r epi ando a pel e/ Quem tem
medo fi ca de for a!/ Segur e o gr i -
to! Stel l a Car r. Ed. Sci pi one. Parte
da Srie Calafrio que apresenta as
aventuras de Gargal o, Espi rro,
Carrapicho e Agulha.
Ar temi s Fowl / Ar temi s Fowl ,
uma avent ur a no r t i co. Eoun
Col fer. Ed. Recor d. As aventuras
de um anti-heri de 12 anos( ge-
nial, mas mal-humorado e pessi-
mista) que misturam ao, a mo-
dernidade da internet e seres fan-
tsticos.
As ar mas penadas. Beni ta
Pr i eto. Ed. Ar gos. Histria com
toques de terror que vem sendo
contada h anos por um arteso
do interior paulista.
(asquer osos) Bi chos mons-
tr uosos. Mar a Jos Val er o. Ed.
Recor d. As fantasias mais estra-
nhas deram vida a uma variedade
de monstros incrveis.
Chapeuzi nho Amar el o. Chi co
Buar que. Ed. Jos Ol ympi o. Cha-
peuzinho Amarelo uma menina
que no sai, no brinca nem vai
festa porque tem medo de tudo.
Col eo Contos de espantar
meni nos. Regi na Chaml i an. Ed.
ti ca. Srie de livros que resgata
personagens fantsticos de nosso
folclore e os transporta para a atu-
alidade.
Cor da bamba. Lygi a Boj unga.
Ed. Agi r. Maria uma menina que
busca dentro de si a fora para
vencer os medos e traumas do pas-
sado.
Deuses e her i s. Zel i ta Sea-
br a. Ed. Recor d. As figuras da mi-
tol ogi a grega que i nfl uenci am,
at hoje, nosso imaginrio.
Dr cul a. Br am St ok er. Ed.
Edi our o. O sedutor vampiro Con-
de Drcula quer reencontrar seu
amor perdido sculos antes.
E m b o ca fech ad a n o en tra
estrela. L eo C u n h a. E d . E d i o u -
ro . Inverte um dos medos tradicio-
naisda infncia ao mostrar uma me-
nina que adora a magia da noite.
Eu mor r o de medo de bi cho!
Babet t e Col e. Ed. t i ca. Chi co
tem pavor dos animais, mas pre-
cisa vencer seus medos.
Fr ankenstei n. Mar y Shel l ey.
Ed. Ci a. das Letr as. Adaptao de
Ruy Castro. Cientista quer supe-
rar a morte e cria monstro com pe-
daos de cadveres.
Hi str i a de fantasma. Tati a-
na Bel i nky. Ed. ti ca. Tati se acha
muito corajosa e zomba do medo
do irmo.
Hi str i as de br uxas (tr aves-
sas). Mar i a Maer u. Ed. Recor d.
Bruxas sem complexos e trapalho-
nas, elas no so exatamente ms.
Hi st r i as ext r aor di nr i as.
Edgar Al l an Poe. Ed. Mar tn Cl a-
r et. Reunio de contos de um dos
maiores escritores da literatura do
sobrenatural.
Hi str i as fantsti cas. Vr i os
autor es. Ed. ti ca. Hi stri as de
autores renomados como Edgar
Allan Poe e Kafka em que o so-
brenatural interfere no cotidiano.
Medo do escur o. Antonio Car-
l os Pacheco. Ed. ti ca. Uma his-
tria sensvel que ajuda a criana
a no ter medo do escuro.
Medr oso! Medr oso! Tat i ana
Bel i nky. Ed. ti ca. s vezes o mais
medroso quem mostra mai or
coragem.
Meus (ter r vei s) fantasmas.
Lui s Toms Mel gar. Ed. Recor d.
As histrias fantasmagricas nos
aterrorizam porque talvez elas pos-
sam realmente acontecer.
Mm i as e out r os m or t os
(bem vi vos). Mar i a Maer u. Ed.
Recor d. Mmias, vampiros e ou-
LEITURASCOMPARTILHADAS
FA SC C U LO 6 | O U TU BRO D E 2002 | W W W .LEIA BRA SIL.O RG .BR
tros mortos-vi vos so frutos do
grande mistrio que a vida aps
a morte.
No ol he atr s da por ta. Li a
Nei va. Ed. Ao Li vr o Tcni co.
Noi te na taver na. l var es de
Azevedo. Ed. Nova Al exandr i a.
Rene cinco contos em que o mal
personificado pela libertinagem.
O abr ao. Lygi a Boj unga. Ed.
Agi r. Ao abordar o estupro de
meninas e jovens a autora rompe
a barreira do medo e do silncio
que mantm impune este crime
covarde.
O bar ul ho f ant asma. Soni a
Junquei r a. Ed. ti ca. Mrio est
sozinho e escuta um estranho ba-
rulho que se aproxima.
O cor onel e o l obi somem.
Jos Cndi do de Car val ho. Ed.
Rocco. O coronel Ponciano ca-
bra valente que no tem medo de
nada, nem de lobisomem.
O f ant asma de Cant er vi l l e.
Oscar Wi l de. Ed. Nobel . Uma his-
tria de amor e terror contada com
o habitual sarcasmo do autor.
O l i vr o dos di spar ates. Tati a-
na Bel i nky. Ed. Sar ai va. Tem uma
parte dedicada aos Medoliques:
pequenos poemas que bri ncam
com os medos infantis.
O mdico e o monstr o. Rober t
Loui s Stevenson. Ed. Mar ti n Cl a-
ret. Respeitvel mdico liberta seu
monstro interior ao ingerir frmu-
la secreta.
O medo e a ter nur a. Pedr o
Bandei r a. Ed. Moder na. Menina
confundida com filha de milion-
rio seqestrada e sofre no cati-
veiro.
O meni no e o tempo. Bi a Het-
zel . Ed. Manat i . Meni no toma
conscincia do tempo e da finitu-
de das coisas, at dele prprio.
O meni no i nesper ado. El i sa
Luci nda. Ed. Recor d. O medo se
apresenta s crianas, e conhecen-
do-o mais fcil enfrent-lo.
O mi str i o do r el gi o na pa-
r ede/ Um vul t o na escur i do.
John Bel l ai r s. Ed. Recor d. Meni-
no vai morar com o tio em uma
casa antiga e cheia de mistrio,
onde vive uma srie de aventuras.
O nome da r osa. Umber t o
Eco. Ed. Recor d. Misteriosas mor-
tes em um monastrio medieval
esto relacionadas a manuscrito
que pode subverter as relaes de
poder pelo medo.
O Ogr o do Apago. Tat i ana
Bel i nky. Ed. Edi our o. A fora de
uma comunidade para enfrentar a
ameaa de blecaute.
O pequ en o papa- s on h os .
Mi chael Ende. Ed. t i ca. O pai
da pri ncesa Soni nho encontra a
sol uo para acabar com seus
pesadel os.
TIRAR O FOLGO
O r etr ato de Dor i an Gr ay. Os-
car Wi l de. Ed. Mar ti n Cl ar et. Ho-
mem renuncia a moral por medo
de perder sua beleza e juventude.
Um estranho pacto faz com s seu
retrato demonstre seu verdadeiro eu.
Pedr o e o l obo. Deni se Cr i s-
pun. Ed. Agi r. Adaptao bem
humorada do clssico russo sobre
um menino e um assustador lobo.
Pente de Vnus. Hel osa Sei -
xas. Ed. Recor d. Reunio de con-
tos perturbadores sobre nosso co-
tidiano.
Pl uft, o fantasmi nha. Mar i a
Cl ar a Machado. Ed. Ci a. das Le-
tr i nhas. Fantasminha com medo
de gente faz amizade com uma
menina raptada por piratas.
Que medo! Mar y Fr ana. Ed.
tica. Lili assusta seu av com suas
histrias de animais ferozes.
Quem tem medo de denti s-
ta/ mar / l obo/ br uxa/ tempestade/
escur o/ dr ago/ ext r at er r est r es/
monst r o/ f ant asma. Fanny Jol y.
Ed. Sci pi one. Srie de livros que
ajuda s crianas a enfrentar temo-
res e aprender a rir deles.
Sombr as da noi te. Stephen
Ki ng. Fr anci sco Al ves. Como em
toda sua obra, o autor parte de
uma falsa tranqilidade cotidiana
para entrar em um mundo sinis-
tro e assustador.
Sonho passado a l i mpo. Leo
Cunha. Ed. ti ca. O pior pesade-
lo de Isabela o fato de estar se
tornando uma mulher.
Tantos medos e outr as cor a-
gens. Roseana Mur r ay. Ed. FTD.
O que medo para uns coragem
para outros. Prmio da F.N.L.I.Je
Lista de Honra do I.B.B.Y.
Você também pode gostar
- A 50 Lei TraduzidoDocumento212 páginasA 50 Lei TraduzidoFelipe Augusto Norbim100% (1)
- Lupa Da Alma (Coleção 2020) Maria HomemDocumento72 páginasLupa Da Alma (Coleção 2020) Maria Homemcandiles100% (2)
- TUAN, Yi-Fu. Paisagens Do MedoDocumento197 páginasTUAN, Yi-Fu. Paisagens Do MedoMarina Sena100% (9)
- Rosa Gens LiteraturaDocumento9 páginasRosa Gens LiteraturaAdilsonAinda não há avaliações
- Apostila O Uso Dos Contos de Fadas Na EducaçãoDocumento6 páginasApostila O Uso Dos Contos de Fadas Na EducaçãoSesi De Paraguaçu Carlos Arruda GarmsAinda não há avaliações
- Resumo Da Apresentação - Seminário o Medo No OcidenteDocumento5 páginasResumo Da Apresentação - Seminário o Medo No OcidenteJulia SilvaAinda não há avaliações
- Slide ContosDocumento33 páginasSlide ContosIsabili SantosAinda não há avaliações
- Artigo O Conto de Fadas e A CriancaDocumento10 páginasArtigo O Conto de Fadas e A CriancamayshinAinda não há avaliações
- Pulsão de Agressão e Pulsão de DominaçãoDocumento6 páginasPulsão de Agressão e Pulsão de DominaçãoMarcos MendesAinda não há avaliações
- E Foi Assim Que Eu e A Escuridao FicamoDocumento4 páginasE Foi Assim Que Eu e A Escuridao FicamoAlSmithAinda não há avaliações
- As Grandes Deusas NegrasDocumento22 páginasAs Grandes Deusas NegrasMarcusNascimentoCoelhoAinda não há avaliações
- Caroline Ziruolo PiovaniDocumento11 páginasCaroline Ziruolo PiovaniLuisa MouniseAinda não há avaliações
- MedoDocumento17 páginasMedoDalva LimaAinda não há avaliações
- Artigo Era Uma VezDocumento9 páginasArtigo Era Uma VezdocluineAinda não há avaliações
- Introdução para A OUTRA CASA de Clecius Alexandre DuranDocumento2 páginasIntrodução para A OUTRA CASA de Clecius Alexandre DuranAlexander Meireles da SilvaAinda não há avaliações
- J. A. Gaiarsa, 100 anos: Coletânea de pensamentosNo EverandJ. A. Gaiarsa, 100 anos: Coletânea de pensamentosNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Histórias para quem dormir?: Expondo os contos de fadas para despertarNo EverandHistórias para quem dormir?: Expondo os contos de fadas para despertarAinda não há avaliações
- Apresentação Trabalho Individual Manel e o MiúfaDocumento17 páginasApresentação Trabalho Individual Manel e o MiúfaMónica PontesAinda não há avaliações
- A Arte de Contar HistóriasDocumento57 páginasA Arte de Contar HistóriasJoão AlvesAinda não há avaliações
- Conceitos de Psicanálise e o Filme O AnticristoDocumento11 páginasConceitos de Psicanálise e o Filme O AnticristoJoell RabeloAinda não há avaliações
- Curando Suas Vidas PassadasDocumento7 páginasCurando Suas Vidas PassadasRodrigo LeiteAinda não há avaliações
- Primeiras Paginas Contos CantosDocumento10 páginasPrimeiras Paginas Contos CantosJhonathan HonmaAinda não há avaliações
- TUAN, Yi-Fu. Paisagens Do Medo.Documento197 páginasTUAN, Yi-Fu. Paisagens Do Medo.Oziel de Medeiros PontesAinda não há avaliações
- Catálogo Monstros No CinemaDocumento148 páginasCatálogo Monstros No CinemaVictor Hugo Barreto100% (3)
- A Consciência MíticaDocumento4 páginasA Consciência MíticaAdriana GomesAinda não há avaliações
- O Feminino e o Masculino: Por meio da Cultura, Religião, Mitologia e Contos de FadasNo EverandO Feminino e o Masculino: Por meio da Cultura, Religião, Mitologia e Contos de FadasNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Os Monstros e A Literatura para A Infância e Juventude: Ana Margarida RamosDocumento11 páginasOs Monstros e A Literatura para A Infância e Juventude: Ana Margarida RamosJoel curinuaAinda não há avaliações
- Jung e o Patinho FeioDocumento6 páginasJung e o Patinho FeioEliana Ribeiro100% (2)
- A Psicologia Das Artes PerformativasDocumento11 páginasA Psicologia Das Artes PerformativasPedro CalladoAinda não há avaliações
- Composições Infância, Monstros e Contos de Fadas PDFDocumento9 páginasComposições Infância, Monstros e Contos de Fadas PDFlacan5Ainda não há avaliações
- Trabalho Individual - O Manel e o MiúfaDocumento9 páginasTrabalho Individual - O Manel e o MiúfaMónica PontesAinda não há avaliações
- Ensaio Sobre Uma Serpente Na GargantaDocumento8 páginasEnsaio Sobre Uma Serpente Na GargantaRafaela Germano MartinsAinda não há avaliações
- O Lado Oculto Dos Contos de FadaDocumento24 páginasO Lado Oculto Dos Contos de FadaevandoferreiramatiasAinda não há avaliações
- Artigo - Medo e MitoDocumento9 páginasArtigo - Medo e MitoC.Keilhany . Camilla KeilhanyAinda não há avaliações
- Por Que As Crianças Precisam de Histórias - Mario & Diana - Psicanálise Na Vida CotidianaDocumento6 páginasPor Que As Crianças Precisam de Histórias - Mario & Diana - Psicanálise Na Vida CotidianaAline HaasAinda não há avaliações
- Bom Dia Angustia Andre Comte SponvilleDocumento4 páginasBom Dia Angustia Andre Comte Sponvillealexandrino filhoAinda não há avaliações
- BOM DIA ANGUSTIA Andre Comte SponvilleDocumento4 páginasBOM DIA ANGUSTIA Andre Comte SponvillelefariasantosAinda não há avaliações
- 1º Ano LPDocumento7 páginas1º Ano LPLucieneAndreAinda não há avaliações
- 1 Estamira PDF 1Documento24 páginas1 Estamira PDF 1Carine MattosAinda não há avaliações
- UntitledDocumento163 páginasUntitledPedro Henrique Palma RamosAinda não há avaliações
- 8 - Violência e Amizade em A Ilha de Gatos PingadosDocumento9 páginas8 - Violência e Amizade em A Ilha de Gatos Pingadosnathalia_bzrAinda não há avaliações
- LABIRINTO NO ESCURO SINOPSE APRESENTAÇÃO. Luís DillDocumento14 páginasLABIRINTO NO ESCURO SINOPSE APRESENTAÇÃO. Luís DillWeberty Farias0% (1)
- O Vampiro à Sombra do Mal: A Fluidez do Lugar da Figura Mítica na LiteraturaNo EverandO Vampiro à Sombra do Mal: A Fluidez do Lugar da Figura Mítica na LiteraturaAinda não há avaliações
- Artigo Científico - As Crônicas de NárniaDocumento10 páginasArtigo Científico - As Crônicas de NárniaClaudia Maris TullioAinda não há avaliações
- A Importância Dos Contos de Fadas Na Personalidade InfantilDocumento16 páginasA Importância Dos Contos de Fadas Na Personalidade InfantilMirian Fidelis GuimarãesAinda não há avaliações
- Atividades-Grupos de Estudos-Oficina de Psicanálise e Literatura-Adelina Helena Lima FreitasDocumento13 páginasAtividades-Grupos de Estudos-Oficina de Psicanálise e Literatura-Adelina Helena Lima FreitasElisson Rodrigues PaixãoAinda não há avaliações
- O Livro Bruxas - Kenia Maria Pereira (Org.)Documento261 páginasO Livro Bruxas - Kenia Maria Pereira (Org.)wilson convictorAinda não há avaliações
- Revista Sitra Ahra 2Documento0 páginaRevista Sitra Ahra 2Antikrist S Blood100% (1)
- O que se esconde sob um chapéu vermelho?: Protagonismo Feminino e Ancestralidade nos Contos de FadasNo EverandO que se esconde sob um chapéu vermelho?: Protagonismo Feminino e Ancestralidade nos Contos de FadasAinda não há avaliações
- ITALIENEDocumento9 páginasITALIENERobertoAinda não há avaliações