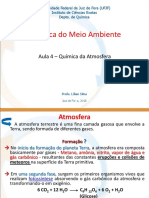Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Tratando Nossos Esgotos PDF
Tratando Nossos Esgotos PDF
Enviado por
Ricardo Murilo ZanettiTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Tratando Nossos Esgotos PDF
Tratando Nossos Esgotos PDF
Enviado por
Ricardo Murilo ZanettiDireitos autorais:
Formatos disponíveis
19
Cadernos Temticos de Qumica Nova na Escola Edio especial Maio 2001 Tratamento de esgotos
U
ma parcela significativa das
guas, depois de utilizadas para
o abastecimento pblico e nos
processos produtivos, retorna suja os
cursos dgua, em muitos casos levan-
do ao comprometimento de sua quali-
dade para os diversos usos, inclusive
para a agricultura. Dependendo do
grau de poluio, essa gua residual
pode ser imprpria para a vida, cau-
sando, por exemplo, a mortandade de
peixes. Tambm pode haver liberao
de compostos volteis, que provocam
mau odor e sabor acentuado, e po-
dero trazer problemas em uma nova
operao de purificao e tratamento
dessa gua. Segundo dados do
BNDES (1998), 65% das internaes
hospitalares de crianas menores de
10 anos esto associadas falta de
saneamento bsico. Nos pases em
desenvolvimento, onde se enquadra o
Brasil, estima-se que 80% das doenas
e mais de um tero das mortes esto
associadas utilizao e consumo de
guas contaminadas (Galal-Gorchev,
1996). A hepatite infecciosa, o clera,
a disenteria e a febre tifide so exem-
plos de doenas de veiculao hdrica,
ou seja, um problema de sade p-
blica.
Quando ocorre o lanamento de
um determinado efluente em um corpo
Jos Roberto Guimares e Edson Aparecido Abdul Nour
Neste artigo descrita a situao atual de tratamento de guas residurias no Brasil, bem como os principais
processos de tratamento. So discutidos os processos fsico-qumicos e biolgicos, e apresentam-se as
principais reaes de transformao da matria orgnica. Tambm so descritas as mais importantes variveis
de interesse sanitrio e ambiental, bem como a legislao federal para classificao das guas.
esgoto, gua residuria, processos fsico-qumicos, processos biolgicos, parmetros ambientais
dgua, seja ele pontual ou difuso, ime-
diatamente as caractersticas qumicas,
fsicas e biolgicas desse local co-
meam a ser alteradas. Por exemplo,
pode ocorrer um aumento muito gran-
de da carga orgnica, refletindo-se no
aumento da DBO (demanda bioqu-
mica de oxignio), da DQO (demanda
qumica de oxignio), do COT (carbono
orgnico total) e,
conseqent e-
mente, uma de-
pleo da con-
centrao de oxi-
gnio dissolvido,
fruto, principal-
mente, do me-
tabolismo de mi-
croorgani smos
aerbios. Parte
da matria org-
nica presente no
efluente se dilui,
sedimenta, sofre
est abi l i zao
qumica e bioqumica. Esse fenmeno
conhecido como autodepurao.
Comumente, utiliza-se apenas o pa-
rmetro oxignio dissolvido para avaliar
esse processo, ou seja, quando a
concentrao de oxignio retorna ao
valor original (antes do lanamento),
assume-se que houve uma autodepu-
rao. No entanto essa definio
questionvel, pois no leva em consi-
derao outras variveis ambientais,
como por exemplo a presena de sais
e de metais, alterao da diversidade
e populao biolgica e do nvel trfico
etc.
Antes de atingirem os corpos aqu-
ticos as guas residuais podem e
devem sofrer algum tipo de
purificao. Os processos
de tratamento de guas
residuais so divididos em
dois grandes grupos, os
biolgicos e os fsico-qumi-
cos. A utilizao de um ou
de outro, ou mesmo a com-
binao entre ambos, de-
pende das caractersticas
do efluente a ser tratado, da
rea disponvel para monta-
gem do sistema de trata-
mento e do nvel de depu-
rao que se deseja atingir.
A maioria dos proces-
sos de tratamento de efluentes aquo-
sos, principalmente os biolgicos, so
baseados em processos de ocorrncia
natural. O objetivo principal de qual-
quer uma das muitas opes de siste-
mas de tratamento o de simular os
fenmenos naturais em condies
controladas e otimizadas, de modo
Segundo dados do BNDES
(1998), 65% das internaes
hospitalares de crianas
menores de 10 anos esto
associadas falta de
saneamento bsico. Nos
pases em desenvolvi-
mento, onde se enquadra
o Brasil, estima-se que 80%
das doenas e mais de um
tero das mortes esto
associadas utilizao e
consumo de guas
contaminadas
20
Cadernos Temticos de Qumica Nova na Escola Edio especial Maio 2001
que resulte em um aumento da veloci-
dade e da eficincia de estabilizao
da matria orgnica, bem como de
outras substncias presentes no meio.
Processos biolgicos
Os processos biolgicos so subdi-
vididos em dois grandes grupos, os
aerbios e os anaerbios. Normal-
mente, os efluentes compostos de
substncias biodegradveis (esgotos
domsticos e de indstrias de alimen-
tos) so preferidos nessas duas clas-
ses de processos.
Nos processos aerbios de trata-
mento de efluentes so empregados
microorganismos que para biooxidar
1
a matria orgnica utilizam o oxignio
molecular, O
2
, como receptor de
eltrons. Normalmente h um consr-
cio de microorganismos atuando con-
juntamente nos processos de estabi-
lizao da matria orgnica. A micro-
fauna composta por protozorios,
fungos, leveduras, micrometazorios e
sem dvida a maioria composta por
bactrias. H uma grande variedade de
sistemas aerbios de tratamento de
guas residuais; as mais empregadas
so lagoas facultativas, lagoas aera-
das, filtros biolgicos aerbios, valos
de oxidao, disposio controlada no
solo e sem dvida uma das opes
mais utilizadas o lodo ativado. Este
sistema compe-se principalmente de
um reator (ou tanque de aerao), de
um decantador secundrio (ou tanque
de sedimentao) e de um sistema de
recirculao do lodo (Figura 1). Parte
do lodo gerado no decantador secun-
drio, que composto basicamente de
microorganismos, devolvido ao
tanque de aerao, mantendo uma alta
concentrao de microorganismos no
sistema e aumentando a velocidade e
eficincia da degradao.
Nos processos anaerbios de tra-
tamento de efluentes so empregados
microorganismos que degradam a ma-
tria orgnica presente no efluente, na
ausncia de oxignio molecular. Nesse
tipo de processo, a grande maioria de
microorganismos que compem a mi-
crofauna tambm de bactrias, basi-
camente as acidognicas e as metano-
gnicas. Como sistemas convencio-
nais anaerbios, os mais utilizados so
os digestores de lodo, tanques spti-
cos e lagoas anaerbias. Entre os
sistemas de alta taxa, ou seja, aqueles
que operam com alta carga orgnica,
destacam-se os filtros anaerbios, rea-
tores de manta de lodo, reatores com-
partimentados e reatores de leito
expandido ou fluidificado. A configu-
rao mais comum para tratamento de
esgoto domstico, descrita na literatura
especializada, de um tanque sptico
seguido de um filtro anaerbio.
O tanque sptico um exemplo de
tratamento em nvel primrio, no qual
os slidos mais densos so removidos
do seio da soluo por sedimentao,
ou seja, ficam no fundo do reator, onde
acontece uma srie de reaes bioqu-
micas. Esse material retido por at
alguns meses para que acontea a sua
estabi l i zao, evi dentemente em
condio anaerbia.
Os filtros anaerbios so reatores
preenchidos com um material inerte, por
exemplo brita, anis de plstico e
bambu, que servem de suporte para
fixao da biomassa. O efluente sofre
degradao biolgica ao ser conduzido
por um fluxo ascendente, e no por pura
filtrao, como sugere o nome do sis-
tema.
Como mostrado na Figura 2 (note
que o mesmo processo discutido no
texto sobre lixo p. 15), o processo de
digesto anaerbia pode ser dividido
em quatro fases bem caractersticas:
hidrlise, acidognese, acetognese e
metanognese. Uma via alternativa
pode ocorrer, quando na presena de
sulfato, chamada de sulfetognese.
Na etapa de hidrlise, as bactrias
fermentativas hidrolticas excretam
enzimas para provocar a converso de
materiais particulados complexos em
substncias dissolvidas (reaes extra-
celulares). Na acidognese, as bact-
rias fermentativas acidognicas meta-
bolizam as substncias oriundas da
etapa anterior at produtos mais sim-
ples, tais como cidos graxos, hidro-
gnio, gs carbnico, amnia etc. A fa-
se de acetognese, que ocorre em se-
guida, consiste na metabolizao de
alguns produtos da etapa anterior pelo
grupo de bactrias acetognicas,
obtendo-se acetato, dixido de carbo-
no e hidrognio. Esses ltimos produ-
tos sero utilizados na metanognese,
evidentemente pelas bactrias meta-
nognicas, para formao do principal
produto da digesto anaerbia, que
o gs metano, CH
4
, alm de CO
2
e H
2
O.
Uma outra etapa que pode ocorrer
quando da presena de sulfatos a
sulfetognese, ou seja, formao de
H
2
S no meio, fruto da atuao das
bactrias redutoras de sulfato que
competem com as metanognicas
pelo mesmo substrato, o acetato.
As reaes biolgicas de xido-
reduo
Uma reao geral (equao 1) que
descreve o mecanismo do metabolis-
mo aerbio de compostos orgnicos,
representado por C
x
H
y
O
z
, a seguinte:
C
x
H
y
O
z(aq)
+ (4x + y - 2z)O
2(g)
xCO
2(g)
+ (y)H
2
O
(l)
(1)
A ttulo de ilustrao, possvel
exemplificar a respirao aerbia utili-
zando-se como modelo a molcula de
glicose (equao 2), mostrando ape-
nas a oxidao de um carboidrato.
importante salientar que essa uma
representao bem simplificada, e que
outras etapas certamente ocorrem an-
tes de se chegar aos produtos finais,
Tanque de aerao
Afluente
Tanque de
sedimentao
Efluente
Excesso de lodo Recirculao de lodo
Figura 1: Representao simplificada de um sistema de lodo ativado.
Tratamento de esgotos
21
Cadernos Temticos de Qumica Nova na Escola Edio especial Maio 2001
ou seja, ao dixido de carbono e
gua. Essa reao bioqumica pode
ser realizada por apenas um microor-
ganismo, e no necessariamente em
vrias etapas por diferentes microorga-
nismos.
C
6
H
12
O
6(aq)
+ 6O
2(aq)
6CO
2(aq)
+ 6H
2
O
(l)
+ Energia (2)
A energia liberada nesse processo
de respirao utilizada para manu-
teno das atividades vitais dos micro-
organismos, como por exemplo os
processos de reproduo, locomoo,
biossntese de molculas fundamen-
tais para sua sobrevivncia etc.
Em relao ao metabolismo anae-
rbio, como visto anteriormente na Fi-
gura 1, a degradao da matria org-
nica realizada em diversas etapas
distintas e por diferentes espcies de
bactrias. No entanto, pode-se descre-
v-lo simplificadamente por meio de
uma equao geral para carboidratos
(Equao 3), e como exemplo utilizan-
do-se novamente a glicose (Equao
4). Neste caso, o carbono aparece en-
tre os produtos no seu mais alto estado
de oxidao (4+), na molcula de CO
2
,
e em seu estado mais reduzido (4-),
na molcula de CH
4
. A energia resul-
tante dessa reao tambm utilizada
para os mesmos fins que o processo
aerbio.
C
x
H
y
O
z(aq)
+ (4x - y 2z)H
2
0
(l)
1/8(4x - y + 2z)CO
2(aq)
+
1/8(4x + y - 2z)CH
4(aq)
(3)
C
6
H
12
O
6(aq)
3CH
4(aq)
+ 3CO
2(aq)
+ Energia (4)
Desde o incio da degradao da
matria orgnica complexa at os pro-
dutos finais (principalmente CH
4
e
CO
2
), existe um sintrofismo
2
entre as
vrias espcies de bactrias, atuando
seqencial e simultaneamente, ou seja,
os produtos de degradao so os
substratos para uma etapa seguinte.
importante ressaltar que as diversas
reaes ocorrem concomitantemente
e em situao de equilbrio.
Vale a pena destacar que nos pro-
cessos aerbios h uma elevada
Tratamento de esgotos
Orgnicos complexos
Orgnicos simples
(acares, aminocidos, peptdios)
cidos orgnicos
(propionato, butirato etc.)
H
2
+ CO
2
Acetato
CH
4
+ CO
2
H
2
S + CO
2
Hidrlise
(bactrias fermentativas)
Acidognese
(bactrias fermentativas)
Acetognese
(bactrias acetognicas)
Bactrias acetognicas produtoras de hidrognio
Bactrias acetognicas consumidoras
de hidrognio
Metanognese
(bactrias metanognicas)
Sulgetognese
(bactrias redutoras de sulfato)
Metanognicas hidrogenotrficas Metanognicas acetoclsticas
Figura 2: Seqncias metablicas e grupos microbianos envolvidos na digesto anaerbia
(Fonte: Chernicharo, 1997).
Gerao de energia nas reaes bioqumicas
Os microorganismos que participam da degradao dos diversos
compostos presentes no esgoto so heterotrficos, ou seja, os compostos de
carbono so as fontes de energia e alimento que esses seres vivos utilizam
para a manuteno de sua atividade biolgica. As principais reaes
bioqumicas que ocorrem para gerao de energia so:
Condies aerbias: degradao de matria orgnica
C
6
H
12
O
6
+ 6O
2
6CO
2
+ 6H
2
O + Energia
Condies anxicas: desnitrificao
2NO
3
-
+ 2H
+
N
2
+ 2,5O
2
+ H
2
O + Energia
Condies anaerbias: degradao da matria orgnica
(metanognese):
CH
3
COOH CH
4
+ CO
2
+ Energia
4H
2
+ CO
2
CH
4
+ 2H
2
O + Energia (reduo de CO
2
)
Dessulfatao (sulfetognese):
CH
3
COOH + SO
4
2-
+ 2H
+
H
2
S + 2H
2
O + 2CO
2
22
Cadernos Temticos de Qumica Nova na Escola Edio especial Maio 2001
atividade celular. Aproximadamente
50% da carga orgnica, suspensa e
dissolvida, que entra em um sistema
de lodo ativado convertida em bio-
massa celular, conhecida como lodo
biolgico. Esse fenmeno uma
sntese de material celular (fase slida)
a partir de compostos dispersos no
meio lquido (fase lquida), sendo
possvel consider-lo uma simples
transferncia de fase. evidente que
ocorrem modificaes moleculares,
resultantes de reaes bioqumicas de
transformao de uma grande parte da
matria orgnica presente no meio
aquoso. Alm disso, uma parte pode
ser absorvida e adsorvida sem nenhu-
ma modificao em sua estrutura.
Transformaes da matria orgnica
nitrogenada
A matria orgnica normalmente
presente em guas residuais compos-
ta basicamente por carbono, hidrognio,
oxignio, nitrognio, fsforo, enxofre e
outros elementos em menor proporo,
porm essenciais para a ocorrncia dos
processos biolgicos de estabilizao
3
desse material. O nitrognio um dos
elementos limitantes do crescimento
celular, abundante na natureza e bastan-
te importante em sistemas de tratamento
de efluentes.
Na biodegradao de aminocidos
e protenas (matria orgnica nitroge-
nada) em processos biolgicos de tra-
tamento de esgotos ocorre a converso
destes em compostos mais simples
como amnia, nitrato, nitrito e nitrognio
molecular. Esse mecanismo efetuado
em etapas distintas por grupos diferen-
tes de microorganismos. Uma primeira
etapa a converso do nitrognio
orgnico em amnia pela ao de
bactrias heterotrficas sob condies
aerbias ou anaerbias (Equao 5).
bactrias heterotrficas
N
orgnico
NH
3
(5)
A amnia liberada pode ser oxidada
por bactrias nitrificantes autotrficas.
O grupo das bactrias Nitrosomonas,
conhecidas como formadoras de
nitritos, convertem a amnia, necessa-
riamente sob condies aerbias, para
nitrito (Equao 6). O nitrito por sua vez
oxidado pelo grupo das bactrias
Nitrobacter at nitrato (Equao 7).
2NH
3(aq)
+ 3O
2(aq)
2NO
2
(aq)
+ 2H
+
(aq)
+ 2H
2
O
(l)
(6)
2NO
2
-
(aq)
+ O
2(aq)
2NO
3
(aq)
(7)
Uma das formas de remoo de ni-
trognio nos efluentes lquidos a
utilizao de bactrias heterotrficas
facultativas, que promovem a desnitri-
ficao. Esse processo transforma o
nitrato em gs nitrognio, sob condi-
es anxicas
4
. Nesse processo
necessria e fundamental a presena
de matria orgnica de fcil degrada-
o, como por exemplo o metanol. Em
alguns casos pode haver a remoo
de at 40% do nitrognio, quando
utilizado esse procedimento. A Equa-
o 8 ilustra esse caso.
6NO
3
-
(aq)
+ 5CH
3
OH
(l)
+ 6H
+
(aq)
3N
2(g)
+ 5CO
2(aq)
+ 13H
2
O
(l)
(8)
A Equao 8 descreve a reduo
desassimilatria de nitrito e nitrato, na
qual o produto final um gs inerte,
N
2
, de modo que o nitrognio orgnico
desaparece e no mais provocar um
consumo de oxignio em ecossiste-
mas aquticos, em geral os corpos
dgua receptores.
Na Figura 3 apresentado o ciclo
do nitrognio, onde so indicados os
mecanismos de nitrificao e desnitri-
ficao.
Por exemplo, possvel estimar se
houve despejo de esgoto
domstico em um corpo
aqutico analisando-se as
vrias formas do nitrognio:
se o aporte do resduo foi
recente, certamente a maior
frao do nitrognio total
ser o nitrognio orgnico
ou mesmo na forma de
amnia, indicando que a
matria orgnica ainda no
foi oxidada. No entanto, se
for um lanamento antigo,
e evidentemente se o meio
for aerbio, a espcie mais
significativa, dentre todas,
ser o nitrato, a forma mais
oxidada. Por outro lado, se
Tratamento de esgotos
Processo de biodegradao vs. receptores de eltrons
Presena
de O
2
Ausncia
de O
2
Condies
aerbias
Condies
anxicas
Condies
anaerbias
> ZERO
ao redor
de ZERO
< ZERO
Redox (mV)
C
x
H
y
Z
z
(matria orgnica)
CO
2
/ H
2
O
O
2
CO
2
/ N
2
NO
3
-
CO
2
/ H
2
S
SO
4
2-
CO
2
/ CH
4
CO
2
Fonte: Von Sperling, 1996.
As formas oxidadas e reduzidas do nitrognio
O nitrognio pode existir em vrios estados de oxidao na natureza, e
todos essas espcies possuem a sua importncia ambiental, industrial, biolgica
etc. No entanto, em sistemas aquticos as formas que predominam e que so
importantes para avaliao da qualidade da gua apresentam nmero de
oxidao 3-, O, 3+ e 5+. Abaixo so mostradas as principais espcies de
ocorrncia natural do nitrognio, e o seu respectivo estado de oxidao.
(3-) (3-) (0) (1+) (2+) (3+) (4+) (5+)
N
org
NH
3
N
2
N
2
O NO NO
2
NO
2
NO
3
23
Cadernos Temticos de Qumica Nova na Escola Edio especial Maio 2001
uma grande proporo do nitrognio
estiver na forma intermediria de
oxidao, o nitrito, isso pode significar
que a matria orgnica encontra-se
ainda em processo de estabilizao.
O acompanhamento das vrias for-
mas de nitrognio ao longo de um deter-
minado trecho de um rio indica qual a
capacidade desse corpo dgua para
degradar e transformar a carga orgnica
nitrogenada e, principalmente, a sua
capacidade de assimilar determinadas
classes de resduos lquidos.
Processos fsico-qumicos
Em relao aos processos fsico-
qumicos, os mais utilizados so a
coagulao, a floculao, a decantao,
a flotao, a separao por membranas,
a adsoro e a oxidao qumica.
Nas guas residuais existem part-
culas de dimenses muito pequenas,
da ordem de 1 m ou at menores,
chamadas de partculas coloidais, que
podem permanecer em suspenso no
lquido por um perodo de tempo muito
grande. Essa mistura chamada de
suspenso coloidal e comporta-se, em
muitos aspectos, como uma verda-
deira soluo. Tais partculas possuem
normalmente em sua superfcie um re-
sidual de carga negativa que faz com
que elas interajam com molculas de
gua, permanecendo em suspenso.
A coagulao um processo onde
partculas que originariamente se apre-
sentam separadas so aglutinadas
pela utilizao de coagulantes, princi-
palmente sais de ferro III e alumnio,
alm de polieletrlitos. Esse processo
resulta de dois fenmenos: o primeiro
qumico e consiste de reaes de
hidrlise do agente coagulante, produ-
zindo partculas de carga positiva; o
segundo puramente fsico e consiste
de choques das partculas com as im-
purezas, que apresentam carga nega-
tiva, ocorrendo uma neutralizao das
cargas e a formao de partculas de
maior volume e densidade. A coagula-
o ocorre em um curto espao de
tempo, podendo variar de dcimos de
segundo a um perodo da ordem de
100 s.
A floculao um processo fsico
que ocorre logo em seguida coagu-
lao e se baseia na ocorrncia de cho-
ques entre as partculas formadas ante-
riormente, de modo a produzir outras
de muito maior volume e densidade,
agora chamadas de flocos.
Esses flocos, que so as impurezas
que se deseja remover, podem ser se-
parados do meio aquoso por meio de
sedimentao, que consiste na ao
da fora gravitacional sobre essas
partculas, as quais precipitam em uma
unidade chamada decantador. Uma
outra opo para a retirada desses
flocos do seio da soluo a utilizao
da flotao por ar dissolvido, que con-
siste na introduo de microbolhas de
ar que aderem superfcie da partcula,
diminuindo sua densidade, trans-
portando-a at a superfcie, de onde
so removidas. Essa unidade conhe-
cida como flotador.
A adsoro consiste de um fen-
meno de superfcie e est relacionado
com a rea disponvel do adsorvente,
a relao entre massa do adsorvido e
massa do adsorvente, pH, tempera-
tura, fora inica e natureza qumica do
adsorvente e do adsorvido. A adsor-
o pode ser um processo reversvel
ou irreversvel.
Historicamente o carvo ativado
(CA) ficou conhecido como o adsor-
vente universal, usado principalmen-
te para tratamento de guas residuais
contendo radionucldeos e metais. No
entanto, esse adsorvente notada-
mente efetivo para a remoo de
molculas apolares, e muito utilizado
em tratamento de gua de abasteci-
mento, para remoo de substncias
que provocam cor e sabor. Predomi-
nantemente utiliza-se carvo ativado na
forma granular, produzido a partir de
madeira, lignita e carvo betuminoso,
com rea superficial variando de 200
a 1.500 m
2
/g.
A adsoro em alumina ativada
(AA) tem sido utilizada na remoo de
fluoreto, arsnio, slica e hmus. Esse
adsorvente, Al
2
O
3
, preparado em
uma faixa de temperatura de 300 a
600
o
C e apresenta uma rea superfi-
cial de 50 a 300 m
2
/g. Na verdade, a
adsoro um fenmeno de troca ini-
ca, e os nions so mais bem adsorvi-
dos em pHs prximos de 8,2 , ou seja,
no pH
ZPC
, conhecido como potencial
zeta ou isoeltrico. Na faixa de pH de
Tratamento de esgotos
(5+) NO
3
-
(3+) NO
2
-
(3-)
N
orgnico
(0) N
2
(3-) NH
3
(1-) NH
2
OH
(2+) NO
(1+) N
2
O
Fixao de nitrognio
Nitrificao
Reduo assimilatria
de nitrato
Reduo disassimilatria
de nitrato
Assimilao de amnia
Amonificao
Figura 3. Ciclo do nitrognio (Fonte: Saunders, 1986).
24
Cadernos Temticos de Qumica Nova na Escola Edio especial Maio 2001
5 a 8 h uma ordem preferencial de
adsoro de nions: OH
-
> H
2
AsO
4
-
>
F
-
> SO
4
2-
> Cl
-
> NO
3
-
. importante
notar que se o pH do efluente a ser
tratado for alto (elevada concentrao
de OH
-
), haver uma rpida saturao
dos stios ativos do adsorvente.
Outros adsorventes naturais tm
sido testados, tais como plantas,
razes, bagao de cana, cabelo, cinzas
etc. O aguap, uma macrfita flutuante,
foi muito utilizado para tratamento de
efluentes contendo fenol e metais.
Esses compostos so adsorvidos em
grande parte nas razes, e evidente-
mente como desvantagens pode-se
citar a necessidade de uma renovao
peridica da planta, o aparecimento de
mosquitos e destino final das plantas
utilizadas.
A oxidao qumica o processo pelo
qual eltrons so removidos de uma subs-
tncia ou elemento, aumentando o seu
estado de oxidao. Em termos qumicos,
um oxidante uma espcie que recebe
eltrons de um agente redutor em uma
reao qumica.
Os agentes de oxidao mais
comumente utilizados em tratamento
de guas residuais so cloro (Cl
2
),
hipoclorito (OCl
), dixido de cloro
(ClO
2
), oznio (O
3
), permanganato
(MnO
4
), perxido de hidrognio (H
2
O
2
)
e ferrato (FeO
4
2-
). Na desinfeco de
guas de abastecimento, que tambm
uma reao de oxidoreduo, os
agentes comumente utilizados so Cl
2
,
OCl
, HOCl, ClO
2
e O
3
.
A capacidade de oxidao pode ser
comparada pela quantidade de oxig-
nio livre disponvel, [O], fornecida por
cada um desses agentes oxidantes. Na
Tabela 1 so apresentadas as semi-
reaes relativas formao dessa
espcie. Tambm mostrado nessa ta-
bela o que se define como oxignio
reativo equivalente, uma relao entre
quantidade da espcie [O] e de oxi-
dante.
Na Tabela 2 apresentado o poten-
cial padro de cada oxidante, onde
feita uma comparao de cada um
deles, inclusive em relao ao poten-
cial hidrogeninico do meio, ou seja,
em diferentes condies de pH. Como
exemplo, pode-se observar uma gran-
de diferena no poder de oxidao no
caso do cido hipocloroso, ou seja, em
meio cido a espcie predominante, a
forma no dissociada HOCl, possui um
potencial de oxidao bem maior que
a espcie inica OCl
(on hipoclorito),
predominante em meio bsico.
Na maioria dos casos, a oxidao
de compostos orgnicos, embora seja
termodinamicamente favorvel (ener-
gia livre de Gibbs menor que zero)
de cintica lenta. Assim, a oxidao
completa geralmente invivel sob o
ponto de vista econmico.
Uma das grandes vantagens da oxi-
dao qumica comparada a outros
tipos de tratamento, como por exemplo
o processo biolgico, a ausncia de
subprodutos slidos (lodo). Os produ-
tos finais da oxidao qumica de
matria orgnica, por exemplo, so
apenas o dixido de carbono e a gua
(Equao 9):
Tratamento de esgotos
Tabela 1: A proporo de oxignio livre disponvel de cada agente oxidante.
Oxignio reativo equivalente
Mol de [O] por
mol de oxidante
1,0
1,0
2,5
1,0
1,0
1,5
1,5
Mol de [O] por
kg de oxidante
14,1
19,0
37,0
20,8
29,4
9,5
7,6
Semi-reao
Cl
2
+ H
2
O [O] [O] [O] [O] [O] + 2Cl
+ 2H
+
HOCl [O] [O] [O] [O] [O] + Cl
+ H
+
2ClO
2
+ H
2
O 5[O] [O] [O] [O] [O] + 2Cl
+ 2H
+
O
3
[O] [O] [O] [O] [O] + O
2
H
2
O
2
[O] [O] [O] [O] [O] + H
2
O
2MnO
4
+ H
2
O 3[O] [O] [O] [O] [O] + 2MnO
2
+ 2 OH
2FeO
4
-2
+ 2H
2
O 3[O] [O] [O] [O] [O] + Fe
2
O
3
+ 4 OH
-
Tabela 2 : Potencial padro de cada agente
oxidante.
Meio reacional
cido
cido
bsico
cido
bsico
cido
bsico
cido
cido
bsico
cido
bsico
Eh (V)
1,36
1,49
0,89
1,95
1,16
2,07
1,25
1,72
1,70
0,59
0,74
2,20
Oxidante
Cl
2
HOCl
ClO
2
O
3
H
2
O
2
KmnO
4
K
2
FeO
4
agente oxidante
MO CO
2
+ H
2
O (9)
Na oxidao qumica de um deter-
minado composto, ou mesmo de uma
mistura deles, pode ocorrer uma oxi-
dao primria, na qual se observa um
rearranjo das espcies iniciantes, de
modo que a estrutura qumica alte-
rada, levando a subprodutos que po-
dem ser mais ou menos txicos que
os compostos originais. Quando hou-
ver uma converso das espcies qu-
micas originais para subprodutos de
toxicidade reduzida, trata-se de uma
oxidao parcial. Na oxidao total h
uma completa destruio das espcies
orgnicas, ou seja, uma completa
mineralizao.
Os processos de separao por
membranas, tais como osmose rever-
sa, ultrafiltrao, hiperfiltrao, e eletro-
dilise, usam membranas seletivas
para separar o contaminante da fase
lquida. Essa separao efetuada por
presso hidrosttica ou potencial el-
trico. Nesse processo o contaminante
dissolvido (ou solvente) passa atravs
de uma membrana seletiva ao tama-
nho molecular sob presso. Ao final do
processo obtm-se um solvente relati-
vamente puro, geralmente gua, e uma
soluo rica em impurezas.
Na hiperfiltrao acontece a passa-
gem de espcies pela membrana com
massa molecular na faixa de 100 a
500 g/mol; a ultrafiltrao usada para
separao de solutos orgnicos com
massa molecular variando de 500 at
1.000.000 g/mol. A ultrafiltrao e a
hiperfiltrao so especialmente teis
25
Cadernos Temticos de Qumica Nova na Escola Edio especial Maio 2001
para concentrar e separar leos,
graxas e slidos finamente divididos
em gua. Tambm servem para con-
centrar solues de molculas orgni-
cas grandes e complexos inicos de
metais pesados.
A tcnica de separao por mem-
branas mais difundida a osmose
reversa (OR). Embora superficialmente
similar ultra e hiperfiltrao, ela ope-
ra por um princpio diferente no qual a
membrana seletivamente permevel
para a gua e no para solutos ini-
cos. Essa tcnica utiliza altas presses
para forar a permeao do solvente
pela membrana, produzindo uma
soluo altamente concentrada em
sais dissolvidos. A osmose reversa
tradicionalmente utilizada para produ-
o de gua para abastecimento a par-
tir de gua salgada, na separao de
compostos inorgnicos, como metais
e cianocomplexos, de compostos or-
gnicos de massa molecular maior que
120 g/mol e de slidos em concen-
trao de at 50.000 mg/L.
A osmose reversa baseada no
princpio da osmose. Quando duas
solues de concentraes diferentes
esto separadas por uma membrana
semipermevel, a gua flui da soluo
menos concentrada para a mais con-
centrada. O processo ocorre at que
se atinja o equilbrio. Se uma presso
maior que a presso osmtica apli-
cada na soluo mais concentrada,
observa-se o fenmeno da osmose re-
versa, ou seja, a gua flui da soluo
mais concentrada para a menos con-
centrada. A presso osmtica que ne-
cessita ser vencida proporcional
concentrao do soluto e tempe-
ratura, e totalmente independente da
membrana.
O princpio bsico da eletrodilise
a aplicao de uma diferena de po-
tencial entre dois eletrodos, em uma
soluo aquosa, separados por mem-
branas seletivas a ctions e nions e
dispostas alternadamente. Os ctions
migram em direo ao catodo e os
nions em direo ao anodo, produ-
zindo fluxos alternados, pobres e ricos
em ctions e nions, separados fisica-
mente pelas diferentes membranas.
Alguns estudos em estaes de tra-
tamento de efluentes lquidos mostram
que a eletrodilise um mtodo de
grande potencial prtico e econmico
para remover mais de 50% de com-
postos inorgnicos dissolvidos em
efluentes que sofreram um pr-trata-
mento para remoo de slidos em
suspenso, os quais provocariam
entupimento ou colmatao das mem-
branas. Para uma melhor eficincia de
remoo, pode ser preciso que a gua
a ser tratada recircule quantas vezes
for necessrio para alcanar o nvel
desejado de qualidade.
Na Tabela 3 so apresentados os
mecanismos de remoo dos compo-
nentes poluentes mais utilizados em
estaes de tratamento de guas
residuais. A maioria deles j foi descrita
anteriormente nos processos biolgi-
cos e fsico-qumicos.
Legislao ambiental
No territrio brasileiro, o Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CO-
NAMA), por meio da Resoluo n. 20,
de 18 de junho de 1986, estabelece os
padres de qualidade de corpos aqu-
ticos, bem como de lanamentos de
efluentes. As guas residuais, aps
tratamento, devem atender aos limites
mximos e mnimos estabelecidos pela
referida resoluo, e os corpos dgua
receptores no devem ter sua quali-
dade alterada.
importante salientar que poss-
vel utilizar a legislao especfica de ca-
da estado, desde que a mesma seja
mais restritiva que a federal. Neste tra-
balho ser abordada apenas a legis-
Tratamento de esgotos
Dimenses
Maiores dimenses
(maiores que ~1 cm)
Dimenses intermedirias
(maiores que ~0,001 mm)
Dimenses diminutas
(menores que ~0,001 mm)
Dimenses superiores a
~0,001 mm
Dimenses inferiores a
~0,001 mm
Reteno de slidos com dimenses superiores ao
espaamento entre barras
Separao de partculas com densidade superior
do esgoto
Reteno na superfcie de aglomerados de bactrias
ou biomassa
Separao de partculas com densidade superior
do esgoto
Reteno na superfcie de aglomerados de bactrias
ou biomassa
Utilizao pelas bactrias como alimento, com
converso a gases, gua e outros compostos inertes
Reteno na superfcie de aglomerados de bactrias
ou biomassa
Utilizao pelas bactrias como alimento, com
converso a gases, gua e outros compostos inertes
Radiao do sol ou artificial
Temperatura, pH, falta de alimento, competio com
outras espcies
Adio de algum agente desinfetante, como o cloro
Gradeamento
Sedimentao
Adsoro
Sedimentao
Adsoro
Estabilizao
Adsoro
Estabilizao
Radiao ultra-violeta
Condies ambientais
adversas
Desinfeco
Tabela 3: Principais mecanismos de remoo de poluentes no tratamento de esgotos.
Poluente
Slidos
Matria
orgnica
Organismos
transmissores
de doenas
Fonte: Barros et. al., 1995.
Principais mecanismos de remoo
26
Cadernos Temticos de Qumica Nova na Escola Edio especial Maio 2001
lao federal, da qual alguns artigos
sero transcritos integralmente e outros
apenas citados e comentados.
Segundo a concentrao de sais,
as guas so classificadas, de acordo
com o artigo 2
o
, em guas doces
(salinidade 0,05%), guas salobras
(0,05% < salinidade < 3%) e guas
salinas (salinidade 3%).
Na Tabela 4 so apresentados os
pri nci pai s padres de qual i dade
referentes s diferentes classes dos
corpos dgua, e a ttulo de ilustrao
e comparao, tambm so apresen-
tados os padres de lanamento,
descritos no artigo 21. O ideal que
qualquer tipo de disposio de efluen-
Tratamento de esgotos
A classificao das guas pelo 1
o
artigo da resoluo CONAMA n. 20/1986
guas doces
I- Classe Especial guas destinadas: a) ao abastecimento sem prvio
tratamento ou com simples desinfeco; b) preservao do equilbrio natural
das comunidades aquticas.
II - Classe 1 guas destinadas: a) ao abastecimento domstico aps trata-
mento simplificado; b) proteo das comunidades aquticas; c) recreao
de contato primrio (natao, esqui aqutico e mergulho); d) irrigao de
hortalias que so consumidas cruas e de frutas que se desenvolvem rentes
ao solo e que so ingeridas cruas sem remoo de pelcula; e) criao
natural e/ou intensiva (aquicultura) de espcies destinadas alimentao hu-
mana.
III - Classe 2 guas destinadas: a) ao abastecimento domstico, aps
tratamento convencional; b) proteo das comunidades aquticas; c) re-
creao de contato primrio (natao, esqui aqutico e mergulho); d) irrigao
de hortalias e plantas frutferas; e) criao natural e/ou intensiva (aquicultura)
de espcies destinadas alimentao humana.
IV - Classe 3 guas destinadas: a) ao abastecimento domstico, aps
tratamento convencional; b) irrigao de culturas arbreas, cerealferas e
forrageiras; c) dessedentao de animais.
V - Classe 4 guas destinadas: a) navegao; b) harmonia paisagstica;
c) aos usos menos exigentes.
guas salinas
VI - Classe 5 guas destinadas: a) recreao de contato primrio; b)
proteo das comunidades aquticas; c) criao natural e/ou intensiva (aqui-
cultura) de espcies destinadas alimentao humana.
VII - Classe 6 guas destinadas: a) navegao comercial; b) harmonia
paisagstica; c) recreao de contato secundrio.
guas salobras
VIII - Classe 7 guas destinadas: a) recreao de contato primrio; b)
proteo das comunidades aquticas; c) criao natural e/ou intensiva
(aquicultura) de espcies destinadas alimentao humana.
IX - Classe 8 guas destinadas: a) navegao comercial; b) harmonia
paisagstica; c) recreao de contato secundrio.
tes lquidos primeiramente deva aten-
der ao prprio padro de lanamento
(art. 21) e ao mesmo tempo no pro-
vocar alterao na classe (padres de
qualidade, art. 4 a 11) do corpo
dgua receptor, conforme descrito no
art. 19.
O padro de lanamento de efluen-
tes pode ser excedido desde que os
padres de qualidade dos corpos
dgua sejam mantidos e desde que
haja autorizao do rgo fiscalizador
estadual, resultante de estudos de im-
pacto ambiental. muito importante
salientar que no permitida a diluio
de guas residuais com guas de
abastecimento, gua de mar e gua
de refrigerao (art. 22), com objetivo
de atender aos padres de lana-
mento.
A origem da gua residual a ser tra-
tada pode ser domstica, industrial ou
uma mistura de ambas. O nvel de tra-
tamento desejado ou exigido por lei de-
pende das caractersticas do prprio
esgoto e do padro de lanamento, ou
mesmo se a gua residual tratada for
reutilizada. De um modo geral, o que
se deseja remover das guas residuais
matria orgnica, slidos em suspen-
so, compostos txicos, compostos
recalcitrantes, nutrientes (nitrognio e
fsforo) e organismos patognicos.
Dependendo da concentrao e do
tipo do composto poluente, neces-
sria a utilizao de diversos nveis de
tratamento para atingir o grau de depu-
rao desejado ou exigido. Usual-
mente, os nveis de tratamento so
classificados em primrio, secundrio
e tercirio. Na Tabela 5 esses nveis so
descritos de forma resumida, mos-
trando as suas principais caracte-
rsticas e objetivos quanto necessi-
dade de aplicao.
Principais parmetros de interesse
sanitrio e ambiental
As normas para classificao de
corpos aquticos, bem como para
lanamentos de efluentes lquidos
tratados, envolvem uma srie de
parmetros de interesse sanitrio e
ambiental, que devem ser monitorados
e atendidos. A seguir sero apresen-
tados os parmetros comumente ava-
liados em ambientes aquticos e em
estaes de tratamento de guas
residuais, tanto na entrada como na
sada desses locais.
Os principais fatores que influen-
ciam o pH e suas variaes na gua
so as propores de espcies carbo-
natadas, a presena de cidos disso-
civeis, constituio do solo, decom-
posio da matria orgnica, esgoto
sanitrio, efluentes industriais, tribu-
trios
5
e solubilizao dos gases da
atmosfera. Vrios vegetais e animais
so responsveis por processos como
a fotossntese e a respirao, que
aumentam ou diminuem o pH das
guas. Em relao a processos de
tratamento de guas, essa varivel
afeta a coagulao qumica, a desidra-
27
Cadernos Temticos de Qumica Nova na Escola Edio especial Maio 2001
tao do lodo, a desinfeco, a oxida-
o qumica, as reaes de amoleci-
mento de guas e o controle de corro-
so. Em relao aos processos biol-
gicos de tratamento de efluentes, o pH
de fundamental importncia nas
reaes bioqumicas, como por exem-
plo em processos de tratamento de
efluente anaerbio, no qual o pH deve
ficar na faixa de 6,8 a 7,2 para que a
eficincia do processo seja ideal. Uma
elevada concentrao de ons H
+
(baixo valor de pH) pode diretamente
provocar fitotoxicidade causada pela
prpria concentrao deste on, ou
indiretamente pela liberao de metais
presentes no solo, ou sedimento, para
a soluo, disponibilizando-os. No
solo, o exemplo clssico se refere ao
on alumnio, Al
3+
. Em relao ao sedi-
mento, alm do alumnio, outros metais
so normalmente liberados para a
coluna dgua, incluindo os metais
pesados, Cd
2+
, Hg
2+
e Pb
2+
, que so
bastante txicos.
Muitas espcies de organismos
aquticos no tm chance de sobrevi-
vncia em guas com baixos nveis de
oxignio dissolvido (OD). Por outro
lado, para uma parcela significativa de
organismos o oxignio extremamente
txico, denominados de microorga-
nismos estritamente anaerbios, que
so to importantes na estabilizao
da matria orgnica e no equilbrio
ecolgico, quantos os microrganismos
Tratamento de esgotos
Tabela 4: A inter-relao entre os principais padres de qualidade das diversas classes de
corpos dgua (gua doce) e padro de lanamento.
Parmetro Unidade Padro para corpo dgua Padro de
Classe lanamento
1 2 3 4
Cor uH
(1)
30 75 75 - -
Turbidez uT
(2)
40 100 100 - -
Sabor e odor - VA VA VA - -
Temperatura C - - - - < 40
Materiais flutuantes - VA VA VA VA ausente
leos e graxas - VA VA VA (5) (6)
Corantes artificiais - VA VA VA - -
Slidos dissolvidos mg/L 500 500 500 - -
Cloretos mg/L 250 250 250 - -
pH - 6 a 9 6 a 9 6 a 9 6 a 9 5 a 9
DBO
(4)
mg/L 3 5
(7)
10
(7)
- 60
(8)
OD
(3)
mg/L 6 5 4 2 -
Amnia mg/L 0,02
(9)
0,02
(9)
- - 5,0
(9)
Coliformes totais org./100 mL 1.000 5.000 20.000 - -
Coliformes fecais org./100 mL 200 1.000 4.000 - -
Regime de lanamento - - - - - (10)
Fonte: Barros et. al., 1995, (modificada).
VA: virtualmente ausente. (1): 1 uH (unidade Hazen) equivalente cor produzida por 1
mg K
2
PtCl
6
/L (1 mg de cloroplatinato de potssio por litro). (2): 1 uT (unidade de turbidez)
equivalente turibez produzida por 1 mg SiO
2
/L (1 mg de xido de silcio por litro). (3):
oxignio dissolvido: a quantidade de oxignio gasoso (O
2
) presente na gua. (4): Demanda
bioqumica de oxignio definida como a quantidade de oxignio necessria para a
estabilizao biolgica da matria orgnica, sob condies aerbias e controladas (perodo
de 5 dias e 20 C). (5): toleram-se efeitos iridescentes (que do as cores do arco-ris). (6):
minerais: 20 mg/L; vegetais e gorduras animais 50 mg/L. (7): estes valores podem ser
ultrapassados quando na existncia de casos de estudo de autodepurao do corpo dgua
indiquem que a OD dever estar dentro dos padres estabelecidos quando da ocorrncia
de condies crticas de vazo (mdia das mnimas de 7 dias consecutivos em 10 anos de
recorrncia). (8): pode ser ultrapassado caso a eficincia do tratamento seja superior a
85%. (9): padro do corpo receptor: amnia (NH
3
); padro de lanamento: amnia total
(NH
3
+ NH
4
+
). (10): a vazo mxima dever ser 1,5 vez a vazo mdia do perodo de
atividade no agente poluidor.
Poluentes
removidos
Eficincia
de remoo
Tipo de
tratamento
predominante
Cumpre o padro
de lanamento?
Aplicao
Tercirio
Matria orgnica suspensa
e dissolvida
Compostos inorgnicos
dissolvidos
Nutrientes
Patognicos: prximo a
100%
Nutrientes: 10 a 95%
Metais pesados: prximo a
100%
Fsico-qumico
Biolgico
Sim
Tratamento mais refinado e
eficiente para produzir um
efluente de melhor qualidade
Secundrio
Slidos no sedimentveis
Matria orgnica no
sedimentvel
Eventualmente nutrientes
Matria orgnica: 60 a 99%
Patognicos: 60 a 99%
Biolgico
Usualmente sim
Tratamento mais completo
(para matria orgnica)
Primrio
Slidos sedimentveis
Matria orgnica sedi-
mentvel
Slidos suspensos: 60 a
70%
Matria orgnica: 30 a
40%
Patognicos: 30 a 40%
Fsico
No
Tratamento parcial
Etapa intermediria de
tratamento mais completo
Preliminar
Slidos grosseiros
Fsico
No
Montante de
elevatria
Etapa inicial de
tratamento
Nvel de tratamento
Tabela 5: Caractersticas dos nveis de tratamento dos esgotos.
Fonte: Barros et. al., 1995 (modificado).
Item
28
Cadernos Temticos de Qumica Nova na Escola Edio especial Maio 2001
aerbios. A degradao da matria
orgnica provoca o consumo de oxi-
gnio presente na gua (Equao 10).
Muitas das mortandades de peixes no
so causadas diretamente pela pre-
sena de compostos txicos, e sim pela
deficincia de oxignio resultante da
biodegradao da matria orgnica.
microorganismos
{CH
2
O} + O
2
CO
2
+ H
2
O (10)
Al m da oxi dao de matri a
orgnica mediada por microorganis-
mos, tambm o oxignio pode ser con-
sumido pela biooxidao de compos-
tos orgnicos nitrogenados (Equao
11), assim como por reaes qumicas
ou bioqumicas de substncias poten-
cialmente redutoras presentes na gua
(equaes 12 e 13).
NH
4
+
(aq)
+ 2O
2(aq)
2H
+
(aq)
+ NO
3
-
(aq)
+ H
2
O
(l)
(11)
4Fe
2+
(aq)
+ O
2(aq)
+ 10H
2
O
(l)
4Fe(OH)
3(S)
+ 8H
+
(aq)
(12)
2SO
3
2-
(aq)
+ O
2(aq)
2SO
4
2-
(aq)
(13)
A atmosfera, que contm cerca de
21% de oxignio, a principal fonte de
reoxigenao de corpos dgua, por
meio da difuso do gs na interface
gua/ar. O oxignio tambm pode ser
introduzido pela ao fotossinttica
das algas. No entanto, a maior parte
do gs oriundo dessa ltima fonte
consumido durante o processo de
respirao, alm da prpria degrada-
o de sua biomassa
morta.
A demanda bio-
qumica de oxignio
(DBO) definida co-
mo a quantidade de
oxignio necessria
para a estabilizao
da matria orgnica
degradada pela ao
de bactrias, sob con-
di es aerbi as e
controladas (perodo
de 5 dias a 20 C). Basicamente, a
informao mais importante que esse
teste fornece sobre a frao dos
compostos biodegradveis presentes
no efluente. Muito importante, inclusive,
para trabalhos de tratabilidade de
guas residuais. O teste de DBO
muito usado para avaliar o potencial
de poluio de esgotos domsticos e
industriais em termos do consumo de
oxignio. uma estimativa do grau de
depleo de oxignio em um corpo
aqutico receptor natural e em condi-
es aerbias. O teste tambm utili-
zado para a avaliao e controle de
poluio, alm de ser utilizado para
propor normas e estu-
dos de avaliao da
capacidade de purifi-
cao de corpos re-
ceptores de gua. A
DBO pode ser con-
siderada um ensaio,
via oxidao mida, no
qual organismos vivos
oxidam a matria org-
nica at dixido de carbono e gua.
H uma estequiometria entre a quanti-
dade de oxignio requerida para
converter certa quantidade de matria
orgnica para dixido de carbono,
gua e amnia, o que mostrado na
seguinte equao generalizada:
C
a
H
b
O
c
N
(aq)
+ a0
2(aq)
aCO
2(aq)
+ cH
2
O
(l)
+ NH
3(aq)
(14)
A demanda qumica de oxignio
(DQO) uma anlise para inferir o con-
sumo mximo de oxignio para degra-
dar a matria orgnica, biodegradvel
ou no, de um dado efluente aps sua
oxidao em condies especficas.
Esse ensaio realizado utilizando-se
um forte oxidante, ou seja, o dicromato
em meio extremamente cido e tempe-
ratura elevada. O valor obtido indica o
quanto de oxignio um
determinado efluente
lquido consumiria de
um corpo dgua re-
ceptor aps o seu
lanamento, se fosse
possvel mineralizar
toda a matria org-
nica presente, de mo-
do que altos valores de
DQO podem indicar
um alto potencial po-
luidor. Esse teste tem sido utilizado
para a caracterizao de efluentes in-
dustriais e no monitoramento de esta-
es de tratamento de efluentes em
geral. A durao desse ensaio de
aproximandamente 3 horas.
Um outro ensaio que atualmente
vem sendo bastante utilizado para
avaliao do contedo orgnico em
guas o carbono orgnico total
(COT). Esse teste fornece a quantidade
de carbono orgnico presente em uma
amostra, sem distino se a matria
orgnica biodegradvel ou no. Nes-
ta anlise, o dixido de carbono (CO
2
)
quantificado aps a oxidao da
amostra em um forno
a al ta temperatura
(entre 680 e 900 C),
na presena de um
catalisador e oxig-
nio. Outra opo a
degradao da mat-
ria orgnica utilizan-
do-se um forte oxi-
dante em meio cido
sob a presena de luz ultravioleta. O
tempo de durao do teste varia de 2
a 10 minutos.
Os principais nutrientes encontrados
nas guas so o nitrognio e o fsforo,
e possuem importante papel nos
ecossistemas aquticos, atuando como
fatores limitantes de crescimento e
reproduo das comunidades e respon-
sveis pelos processos de eutrofizao
e alterao de seu equilbrio dinmico.
As fontes de nitrognio e de fsforo
podem ser naturais ou antrpicas.
As fontes principais de nitrognio
so a atmosfera, a precipitao pluvio-
mtrica, o escoamento superficial, o
revolvimento de sedimento de fundo,
esgoto sanitrio, efluentes industriais,
eroso, queimadas, decomposio,
lise celular e excreo.
Em relao s fontes de fsforo
naturais, as principais so os proces-
sos de intemperismo das rochas e
decomposio da matria orgnica. J
as artificiais consistem de efluentes
industriais, esgotos sanitrios e fertili-
zantes. importante ressaltar ainda
que os sabes e detergentes so os
maiores responsveis pela introduo
de fosfatos nas guas.
A presena ou ausncia desses
nutrientes pode ser benfica ou no. Em
esturios, a presena excessiva de
nitrognio pode provocar um aumento
na populao de organismos aquticos.
O mesmo ocorre em lagos, quando do
aumento da concentrao de fsforo. O
crescimento exagerado da populao
de algas em guas doces decorre da
elevada concentrao de nutrientes, um
Tratamento de esgotos
A demanda qumica de
oxignio (DQO) uma
anlise para inferir o
consumo mximo de
oxignio para degradar a
matria orgnica,
biodegradvel ou no, de
um dado efluente aps sua
oxidao em condies
especficas
A demanda bioqumica
por oxignio (BDO) pode
ser considerada em ensaio,
via oxidao mida, no
qual organismos vivos
oxidam a matria orgnica
at dixido de carbono e
gua
29
Cadernos Temticos de Qumica Nova na Escola Edio especial Maio 2001
fenmeno bastante comum em lagos e
reservatrios. Freqentemente h uma
depleo de oxignio em corpos aqu-
ticos resultante da oxidao da biomas-
sa formada por algas mortas. O ambien-
te anaerbio fatal para muitos organis-
mos. Mais detalhes sobre o processo
de eutrofizao podem ser encontrados
no artigo As guas do planeta Terra (p.
35).
A remoo de amnia, nitrato e nitri-
to das guas residuais nas estaes
de tratamento de esgotos (ETE)
importante, pois so compostos que
produzem efeitos deletrios sade
tanto dos organismos presentes nos
corpos dgua como aos seres huma-
nos consumidores de gua de abaste-
cimento oriundas de manancias super-
ficiais e subterrneos. Concentraes
de amnia acima de 0,25 mg/L afetam
o crescimento de peixes e na ordem
de 0,50 mg/L so letais. J o nitrato,
quando ingerido, reduzido a nitrito no
trato intestinal e ao entrar na corrente
reage com a hemoglobina, conver-
tendo-a em meta-hemoglobina, mol-
cula que no possui a capacidade de
transportar oxignio. Alm disso, o
nitrato ingerido pode ser convertido a
nitrosaminas, composto cancergeno.
Os organismos patognicos, tais
como bactrias, vrus, vermes e proto-
zorios, so os principais causadores
de doenas de veiculao hdrica e
aparecem na gua, normalmente, em
baixa concentrao e de forma intermi-
tente. O isolamento e deteco de um
patgeno tem um custo elevado e em
mdia o teste leva 6 dias para obten-
o do resultado;um tempo muito
longo para qualquer tomada de deci-
so.
O exame bacteriolgico mais co-
mum para avaliao da qualidade mi-
crobiolgica de guas consiste da
determinao de bactrias do grupo
coliforme. As bactrias do grupo
coliforme, em geral, mostram-se mais
resistentes que as patognicas, em
relao aos processos naturais de
depurao e ao de desinfetantes.
Portanto, se em uma amostra no
forem encontrados coliformes, certa-
mente os patgenos no estaro
presentes, pelo menos em quantidade
significativa. Por outro lado, se for
encontrado bactrias do grupo colifor-
Tratamento de esgotos
mes, h um risco de se encontrar os
tais organismos infectantes ou causa-
dores de doenas. Infelizmente, exis-
tem algumas excees, como os cistos
do agente da disenteria amebiana, que
so muito mais resistentes que os
coliformes.
O grupo coliforme dividido em
bactrias fecais (ou intestinais) e no
fecais. As primeiras
vivem e se multipli-
cam no trato digestivo
de animais de sangue
quente (mamferos e
aves) e so elimina-
das junto com as fe-
zes. As no fecais so
encontradas normal-
mente no solo.
H dois subgru-
pos de coliformes. Os coliformes totais
so formados pelos gneros Escheri-
chia coli, Citrobacter spp, Enterobacter
spp e Klebsiella spp. Os coliformes
fecais, pelos gneros: Escherichia coli
e Klebsiella t.t. A identificao destes
subgrupos realizada utilizando-se
diferentes meios de cultura, ou seja,
para os totais utilizado um meio de
amplo espectro, enquanto para os
fecais o meio necessariamente
seletivo.
Consideraes finais
Dados recentes mostram que na
regio metropolitana de So Paulo
(RMSP), apenas 17% de todas as
indstrias tratam de alguma forma seus
efluentes (gua na boca, 2000). Certa-
mente esse valor deve ser bem menor
quando se considera todo o territrio
nacional.
Em relao ao tratamento de esgo-
to sanitrio, principalmente aqueles
gerados nas residncias, muito pouco
do total coletado em todo o pas recebe
algum processo de depurao, mes-
mo que em nvel primrio. Portanto,
grande parte desse efluente in natura
atinge os cursos dgua, caracteri-
zando-se no maior problema de po-
luio aqutica (Alves, 1992).
No nosso pas, aproximadamente
60% dos pacientes internados em hos-
pitais esto com alguma doena cuja
origem de veiculao hdrica, e esti-
mativas apontam que se houvesse
uma poltica de aplicao de verbas em
saneamento bsico, ou seja, trata-
mento de gua para abastecimento e
de esgotos, haveria uma economia
significativa em gastos com sade.
Segundo o IBGE (1997), no ano de
1996 aproximadamente 74,2% e 40,3%
dos domiclios brasileiros dispunham
de gua tratada e rede coletora de es-
goto, respectivamente. Esses nmeros
indicam que uma gran-
de parcela da popu-
lao no tem acesso
gua encanada e ao
saneamento bsico.
Nesse sentido, pol-
ticas srias de investi-
mentos nessas reas
so de fundamental
i mportnci a para a
sade pblica.
sempre importante ressaltar que
a gua uma riqueza de quantidade e
qualidade limitada, sendo necessrio
que se faa um uso racional desse
bem. A necessidade do tratamento de
guas residurias com o objetivo de
controle de poluio promove uma
melhoria na qualidade dos corpos
aquticos e de guas destinadas ao
abastecimento pblico, alm da redu-
o da poluio ambiental.
O desperdcio de gua e a utiliza-
o de tecnologias inadequadas, ultra-
passadas e ineficientes pelo setor
industrial, so prticas que devem ser
combatidas por meio da otimizao e/
ou substituio de processos, e mes-
mo pela prpria conscientizao da
populao, alm da ao importante
dos rgos fiscalizadores.
O tratamento, o reuso e a dispo-
sio adequada de guas servidas so
procedimentos que visam minimizar os
efeitos e as conseqncias indesej-
veis ao ambiente. No entanto, antes de
se encontrar a soluo tecnolgica
mais adequada para amenizar tais efei-
tos e conseqncias, a pergunta que
deve ser feita para todos os setores da
populao a seguinte: Ser que
necessrio gerar determinado volume
e tipo de efluente, para que depois o
mesmo seja tratado?
Notas
1. Biooxidar (oxidao biolgica):
processo em que os organismos vivos,
em presena ou no de oxignio, por
As bactrias do tipo
coliforme, em geral,
mostram-se mais resistentes
que as patognicas. Se em
uma amostra no forem
encontrados coliformes,
certamente os patgenos
no estaro presentes em
quantidade significativa
30
Cadernos Temticos de Qumica Nova na Escola Edio especial Maio 2001 Tratamento de esgotos
Referncias bibliogrficas
gua na Boca. Junho/2000. Disponvel
no site www.tvcultura.com.br/aloescola/
ciencias/aguanaboca/aguanaboca.htm.
ALVES,F. Pobre Brasil (Editorial). Sanea-
mento Ambiental, n. 19, p. 03, 1992.
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVI-
MENTO ECONMICO E SOCIAL
BNDES: Modelagem de desestatizao
do setor de saneamento bsico (trabalho
realizado por um consrcio de empresas
contratadas). Rio de Janeiro, Maio de
1998, IV volumes. Mimeo.
BARROS, R.T.V. et al. Manual de sanea-
mento e proteo ambiental para os mu-
nicpios. v. 2 Saneamento, Belo Ho-
rizonte: DESA-UFMG, 1995.
CHERNICHARO, C.A.L. Princpios do
tratamento biolgico de guas residurias:
Reatores anaerbios. v. 5, Belo Horizonte:
DESA-UFMG, 1997.
GALAL-GORCHEV, Desinfeccin del
agua potable y subproductos de inters
So Paulo: CETESB, 1976.
CARVALHO, B.A. Glossrio de sanea-
mento e ecologia, ABES, Rio de Janeiro,
1 ed., 1981.
DI BERNARDO, L. Mtodos e tcnicas
de tratamento de gua. v. 1, Rio de
Janeiro: ABES, 1993.
MANAHAN, S.E. Environmental chem-
istry, Lewis Publishers-CRC Press, Inc., 6
ed., Boca Raton, Florida, EUA, 1994.
METCALF & EDDY INC. Wastewater
engineering: treatment, disposal and re-
use, New York: McGraw-Hill Publishing
Company, 3 ed., 1991.
NUNES, J.A., Tratamento fsico-qumico
de efluentes industriais, Aracaju, 1993.
SAWER, C.N. et. al. Chemistry for envi-
ronmental engi neeri ng, New York:
McGraw-Hill Book Company, 4 ed., 1994.
VON SPERLING, M. Princpios do
tratamento biolgico de guas residurias:
Lodos ativados. v. 4, Belo Horizonte:
DESA-UFMG, 1997.
para la salud. In: La calidad del agua po-
table en America Latina: Ponderacin de
los riesgos microbiolgicos contra los
riegos de los subproductos de la desinfec-
con qumica, Craun, G.F. e Castro, R., eds.,
p. 89-100. ILSI Press: Washigton, EUA,
1996.
IBGE Pesquisa nacional por amostra de
domiclios: sntese de indicadores. Rio de
Janeiro, p. 97-99, 1997.
RESOLUO n 20 do CONAMA: Legis-
lao Federal Brasileira, 1986.
VON SPERLING, M. Princpios do trata-
mento biolgico de guas residurias: Prin-
cpios bsicos do tratamento de esgotos.
v. 2, Belo Horizonte: DESA-UFMG, 1996.
SAUNDERS, F.J. A new approach to the
development and control of nitrification. Wa-
ter and Waste Treatment, v. 43, p. 33-39, 1986.
Para saber mais
AZEVEDO-NETTO, J.M. et al. Tcnica de
abastecimento e tratamento de gua. v. 2,
Uma boa leitura
A obra Lixo municipal manual de
gerenciamento integrado do IPT (Insti-
tuto de Pesquisas Tecnolgicas) e do
CEMPRE (Compromisso Empresarial
para Reciclagem) apresenta uma abor-
dagem sobre o gerenciamento dos
resduos slidos no Brasil. Escrita por
uma equipe tcnica de especialistas da
rea, trata-se de uma publicao que
aborda aspectos fundamentais para a
definio de polticas pblicas, ativida-
des de treinamento tcnico e educa-
o ambiental, investimentos em no-
vas tecnologias e, ainda, a reestrutu-
rao jurdica e financeira da atividade
de tratamento e disposio final do lixo.
Sua linguagem direta e acessvel pode
atender s necessidades das prefei-
turas municipais, organizaes no-
governamentais e a todos que tenham
interesse em exercer a sua cidadania
em favor do meio ambiente e da quali-
meio da respirao aerbia ou anae-
rbia, convertem matria orgnica
presente na gua residuria em subs-
tncias mais simples.
2. Sintrofismo: um fenmeno que
envolve a troca de nutrientes entre duas
espcies de organismos, na qual cada
um recebe benefcios dessa asso-
ciao.
3. Estabilizao: tem o mesmo sen-
tido de oxidao biolgica.
4. Em condies anxicas, ou seja,
E
h
ao redor de zero, na ausncia de
oxignio molecular, ocorre o processo
de desnitrificao.
5. Tributrio: nesse caso refere-se
a outros corpos dgua que atuam co-
mo afluentes do corpo dgua princi-
pal.
Jos Roberto Guimares (jorober@fec.unicamp.br),
bacharel em qumica, doutor em cincias pela
UNICAMP, especialista em qumica ambiental/sanitria,
docente da Faculdade de Engenharia Civil da
Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP. Edson
Aparecido Abdul Nour (ednour@fec.unicamp. br),
engenheiro de alimentos e tecnlogo em saneamento,
doutor em recursos hdricos e saneamento pela USP,
especialista em tratamento de guas residurias,
docente da Faculdade de Engenharia Civil da
Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP.
Resenha
dade de vida da sociedade em que
est inserido.
O livro dividido em sete captulos
e anexos, cobrindo extensamente as-
pectos sobre reciclagem de materiais
(orgnico, plstico, papel, vidro e me-
tais). Para professores e estudantes,
alm da capacidade de abordar a
questo dos resduos de forma crtica,
o texto tambm coloca disposio
tabelas, grficos e muitas ilustraes
que contribuem perfeitamente para a
anlise dos temas associados ao ge-
renciamento do lixo urbano. Em um de
seus anexos, encontra-se a relao de
entidades e associaes governamen-
tais e no-governamentais, que peca
por no fornecer o endereo na Web.
Lixo municipal referncia obrigat-
ria para aqueles que se ocupam da
educao ambiental, especialmente
professores comprometidos com a
contextualizao da qumica em qual-
quer nvel de ensino.
Lixo municipal manual de geren-
ciamento integrado. Organizadores:
Maria Luiza Otero DAlmeida e Andr
Vilhena. Segunda edio, So Paulo:
IPT/CEMPRE, 2000 (Publicao IPT
2622).
Você também pode gostar
- Manual e Operação de ETEDocumento70 páginasManual e Operação de ETEDomênico Andreatta67% (3)
- Apostila Oficial Saúde PDFDocumento245 páginasApostila Oficial Saúde PDFMarie StewartAinda não há avaliações
- Apostila de Saneamento Ambiental II - Professor Daniel Costa Dos Santos PDFDocumento96 páginasApostila de Saneamento Ambiental II - Professor Daniel Costa Dos Santos PDFSétima Eng. AmbientalAinda não há avaliações
- Química - Cadernos Temáticos - QuiralidadeDocumento10 páginasQuímica - Cadernos Temáticos - QuiralidadeQuimica Passei100% (3)
- Química - Cadernos Temáticos - VidrosDocumento12 páginasQuímica - Cadernos Temáticos - VidrosQuimica Passei100% (4)
- Química - Cadernos Temáticos - Polímeros SintéticosDocumento4 páginasQuímica - Cadernos Temáticos - Polímeros SintéticosQuimica Passei100% (3)
- Química - Cadernos Temáticos - Tabela Periódica Org Dos Elem QuímicosDocumento2 páginasQuímica - Cadernos Temáticos - Tabela Periódica Org Dos Elem QuímicosQuimica Passei100% (10)
- Contribuições Da Química Inorgânica para A Química MedicinalDocumento3 páginasContribuições Da Química Inorgânica para A Química MedicinalAriaidny FariasAinda não há avaliações
- Quimica Da AtmosferaDocumento14 páginasQuimica Da AtmosferaAlfonso Gómez Paiva100% (7)
- Química - Cadernos Temáticos - Serviço Da HumanidadeDocumento4 páginasQuímica - Cadernos Temáticos - Serviço Da HumanidadeQuimica Passei100% (2)
- Química - Cadernos Temáticos - PlásticosDocumento4 páginasQuímica - Cadernos Temáticos - PlásticosQuimica Passei100% (2)
- Química - Cadernos Temáticos - RemédiosDocumento6 páginasQuímica - Cadernos Temáticos - RemédiosQuimica Passei100% (6)
- Química - Cadernos Temáticos - Modelagem MolecularDocumento7 páginasQuímica - Cadernos Temáticos - Modelagem MolecularQuimica Passei100% (2)
- O Tecnécio Na MedicinaDocumento5 páginasO Tecnécio Na Medicinamonique_forteAinda não há avaliações
- Quimica de MateriaisDocumento2 páginasQuimica de MateriaisSup3RoqueAinda não há avaliações
- Ligações Químicas Ligação Iônica Covalente e MetálicaDocumento10 páginasLigações Químicas Ligação Iônica Covalente e Metálicavan't hoff100% (7)
- HidrosferaDocumento10 páginasHidrosferaKenny EvangelistaAinda não há avaliações
- A Noção Clássica de Valência e o Limiar Da RepresentacãoDocumento12 páginasA Noção Clássica de Valência e o Limiar Da RepresentacãoemmanuelSMAinda não há avaliações
- Química - Nomenclatura de Moléculas OrgânicasDocumento7 páginasQuímica - Nomenclatura de Moléculas OrgânicasQuímica_Moderna100% (1)
- Espectroscopia MolecularDocumento7 páginasEspectroscopia MolecularDiego Henrique MartucciAinda não há avaliações
- Química - Cadernos Temáticos - HipertensãoDocumento5 páginasQuímica - Cadernos Temáticos - HipertensãoQuimica Passei100% (4)
- Química - Cadernos Temáticos - Introdução IDocumento1 páginaQuímica - Cadernos Temáticos - Introdução IQuimica PasseiAinda não há avaliações
- Química - Cadernos Temáticos - BohrDocumento9 páginasQuímica - Cadernos Temáticos - BohrQuimica PasseiAinda não há avaliações
- Evolucao Da AtmosferaDocumento4 páginasEvolucao Da AtmosferaCecilia FerreiraAinda não há avaliações
- Interação InterpartículasDocumento6 páginasInteração InterpartículasAtailson OliveiraAinda não há avaliações
- Química - Cadernos Temáticos - ElementosDocumento6 páginasQuímica - Cadernos Temáticos - ElementosQuimica PasseiAinda não há avaliações
- Química - Cadernos Temáticos - Fluxos de Matéria e Energia No SoloDocumento11 páginasQuímica - Cadernos Temáticos - Fluxos de Matéria e Energia No SoloQuimica PasseiAinda não há avaliações
- Quimica Atmosferica - A Quimica Sobre Nossas CabeçasDocumento9 páginasQuimica Atmosferica - A Quimica Sobre Nossas CabeçasGabrielGardinAinda não há avaliações
- Razões Da Atividade BiológicaDocumento10 páginasRazões Da Atividade BiológicaFabricio OliveiraAinda não há avaliações
- Química - Cadernos Temáticos - Águas No Planeta TerraDocumento10 páginasQuímica - Cadernos Temáticos - Águas No Planeta TerraQuimica PasseiAinda não há avaliações
- Química RG PPT - Substancias Puras e MisturasDocumento18 páginasQuímica RG PPT - Substancias Puras e MisturasQuímica PPT100% (4)
- Ciclos BiogeoquímicosDocumento43 páginasCiclos BiogeoquímicosBruno Maria OliveiraAinda não há avaliações
- ECOLOGIADocumento32 páginasECOLOGIAPam SoaresAinda não há avaliações
- Aula-4-Química Da Atmosfera ParteIDocumento47 páginasAula-4-Química Da Atmosfera ParteISamuel Aguiar100% (1)
- Prova 3 - Análise AmbientalDocumento15 páginasProva 3 - Análise AmbientalEdinho LourençoAinda não há avaliações
- .ECOLOGIA (2024) - 3° AnoDocumento274 páginas.ECOLOGIA (2024) - 3° Anojoanna DarckAinda não há avaliações
- Os Ciclos BiogeoquímicosDocumento7 páginasOs Ciclos BiogeoquímicosEUNICE MACEDOAinda não há avaliações
- Microbiologia Ambiental (Modo de CompatibilidadeDocumento79 páginasMicrobiologia Ambiental (Modo de CompatibilidadeFaskyPêgoAinda não há avaliações
- Aquaponia PortoDocumento143 páginasAquaponia Portoclaudios123Ainda não há avaliações
- Amônia e Oxidos de NitrogênioDocumento11 páginasAmônia e Oxidos de NitrogênioISABELLA MARQUES DO NASCIMENTOAinda não há avaliações
- Alterações No Ciclo Do N, Riscos e Consequências para o Ecossistema Marinho-Costeiro - JuliaDocumento11 páginasAlterações No Ciclo Do N, Riscos e Consequências para o Ecossistema Marinho-Costeiro - JuliaJúlia Ferreira CanellaAinda não há avaliações
- Ciclos BiogeoquímicosDocumento16 páginasCiclos BiogeoquímicosValeria Castro0% (1)
- Ciclo Do NitrogênioDocumento11 páginasCiclo Do NitrogênioMatheusAinda não há avaliações
- T11 ProtistasDocumento42 páginasT11 ProtistasDonato RodriguesAinda não há avaliações
- 2022 PV Impresso D2 CD6Documento32 páginas2022 PV Impresso D2 CD6Rafael SantosAinda não há avaliações
- 2 - Nutrientes de Esgoto Sanitário: Utilização e RemoçãoDocumento430 páginas2 - Nutrientes de Esgoto Sanitário: Utilização e RemoçãoJade VargasAinda não há avaliações
- Tratando Nossos Esgotos - Processos Que Imitam A Natureza - EsgotosDocumento14 páginasTratando Nossos Esgotos - Processos Que Imitam A Natureza - EsgotosMauro CostaValAinda não há avaliações
- Ciclos BiogeoquímicosDocumento7 páginasCiclos BiogeoquímicosCleison FreitasAinda não há avaliações
- Ciclos de MatériaDocumento29 páginasCiclos de MatériaPaula Abrantes100% (1)
- Bib 438528798 Microbiologia Dos Lodos AtivadosDocumento16 páginasBib 438528798 Microbiologia Dos Lodos Ativadossandiego773Ainda não há avaliações
- Manejo de Fertirrigação - Dimenstein - Janeiro 2019Documento126 páginasManejo de Fertirrigação - Dimenstein - Janeiro 2019Luis Felipe Drumond RochaAinda não há avaliações
- Ciclo Da Ureia Aspectos Basicos-2009Documento2 páginasCiclo Da Ureia Aspectos Basicos-2009Luiz Gustavo Peron MartinsAinda não há avaliações
- Aula 2. EcoDocumento55 páginasAula 2. EcoAdik AlyAinda não há avaliações
- 7 - Ciclos BiogeoquimicosDocumento1 página7 - Ciclos BiogeoquimicosPedro Henrique Marques dos SantosAinda não há avaliações
- Ciclos BiogeoquimicosDocumento15 páginasCiclos Biogeoquimicosbruh.vargasAinda não há avaliações
- Ciclo Do NitrogênioDocumento8 páginasCiclo Do NitrogênioGabriella Forlin AntunesAinda não há avaliações
- Aula 01 - Características Do Esgoto DomésticoDocumento100 páginasAula 01 - Características Do Esgoto DomésticoLaioMouraAinda não há avaliações
- Questões Ciclo Do Carbono 123Documento14 páginasQuestões Ciclo Do Carbono 123Víctor JuliaoAinda não há avaliações