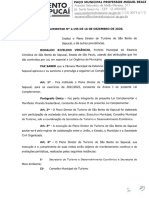Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Zabatiero Teologia Pratica
Zabatiero Teologia Pratica
Enviado por
Bladimir CoroTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Zabatiero Teologia Pratica
Zabatiero Teologia Pratica
Enviado por
Bladimir CoroDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Teologa y cultura, ao 6, vol.
11 (2009)
ISSN 1668-6233
As estructuras da ao: construindo o referencial
terico da teologia prtica
Jlio Paulo Tavares Zabatiero
(Brasil)
Resumen: En este artculo, el telogo brasileo Jlio Paulo Tavares Zabatiero nos ofrece una exposicin de los
fundamentos para la teologa prctica o pastoral. Partiendo del marco terico de la accin comunicativa elaborada
por Jrgen Habermas, Tavares Zabatiero distingue entre acciones nticas que existen en el mundo y acciones
sociales que son fruto de la accin humana. A su vez, las primeras se subdividen en estructuras de inmanencia y
de trascendencia. El autor muestra que la accin humana produce tanto objetos concretos como simblicos y que,
dentro de estos ltimos, estn los que corresponden a la accin pastoral que, bajo el paradigma comunicativo, se
refiere al cuidado, la movilizacin, la formacin y la coordinacin de esa accin.
Palabras clave: Habermas. Accin comunicativa. Teologa prctica.
Abstract: In this article, brazilian theologian Jlio Paulo Tavares Zabatiero displays the grounds for a pastoral or
practical Theology. As from the theorical frame of the communicative action created by Jrgen Habermas,
Tavares Zabatiero makes a distinction between ontic actions, which exist in the world, and social actions that are
a consequence of the human action. Besides, the first actions are sub divided into structures of immanency and
trascendency. The author demonstrates that human action produces both concrete objects and simbolic ones, and
that within the last there are the ones corresponding to pastoral action that, under the communicative model, the
same refer to caring, movilization, formation and coordination of this action.
Key words: Habermas. Comunicative action. Practical Theology.
Introduo
En artigos anteriores1 apresentei o conceito de ao e suas dimenses, neste, nos
ocuparemos das estruturas da ao humana. Dois tipos de estruturas estabelecem
limites e possibilidades para a ao humana: as estruturas nticas, que existem no
mundo, independentemente da ao humana embora possam ser modificadas por
ela e as estruturas sociolgicas, que somente existem como fruto da ao humana
coletiva e histrica. Apesar da sensao de liberdade individual, a ao humana
estruturada, ou seja, as pessoas no fazem simplesmente o que querem, mas aquilo
que possvel fazer dentro de certos limites e possibilidades estruturais. Por outro
lado, a ao no totalmente determinada pelas estruturas, pois tambm participa da
sua conformao e organizao, o que confere, ento, um certo grau real de liberdade
para o agir humano que , assim, tambm estruturante.
Este artigo foi publicado originalmente en Praxis Revista teologica 5 (2004), 93-105. Los artigos anteriores:
Desafios da teologia latino americana pastoral protestante, en Teologa y cultura 2 (diciembre 2004), y O
desafio da legitimidad, en Teologa y cultura 3 (agosto 2005).
Teologa y cultura 11 (diciembre 2009)
56
Estruturas nticas2
Por estruturas nticas entendo aquelas estruturas que caracterizam a existncia
humana no mundo, delimitam e possibilitam a ao humana enquanto tal3. Seguindo
Junges, constato dois tipos de estruturas nticas, as de imanncia e [as] de
transcendncia ao mundo. As primeiras correspondem ao ser humano enquanto
dado, enquanto situado no mundo, nascido em certo lugar e tempo e trazendo certa
bagagem natural e social. As outras dizem respeito ao ser humano enquanto tarefa de
superar e transformar o dado num contnuo devir histrico que aponta para o futuro e
para o outro.4
Estruturas de Imanncia
Estruturas de
Transcendncia
MUNDANIDADE: o ser humano ESPACIALIDADE: o ser
como ser-no-mundo
Concretizadas pela Ao
CRIATIVIDADE: o ser humano
humano como presena-em/a como co-operador de Deus
SOCIALIDADE: o ser humano ALTERIDADE: o ser humano
SOLIDARIEDADE: o ser
como ser-com-o-outro
humano como parceiro de
como abertura-ao-outro
Deus
PERSONALIDADE: o ser
TEMPORALIDADE: o ser
HISTORICIDADE: o ser humano
humano como ser-consigo-
humano como abertura-ao-
como sedento de Deus
mesmo
futuro
Como ser inserido em uma realidade que lhe prvia, a ao humana
triplamente estruturada pela: (a) mundanidade, ou seja, pelo fato de a pessoa viver
em um planeta especfico que faz parte de um universo; pelo que podemos falar do
ser humano como um ser-no-mundo, ou, na linguagem de Habermas, como um ser
que est colocado em um mundo objetivo5. O mundo delimita e estrutura a ao
humana de vrias maneiras, por exemplo: limites de idade, habitao, consumo de
gua e outros recursos do planeta, clima, convivncia com outras espcies de seres
vivos e no vivos, etc.; (b) socialidade, ou seja, pelo fato de toda pessoa nascer e
viver em uma coletividade, no s como filho de, mas tambm como irm(o) de, pelo
que podemos falar do ser humano como um ser-com-o-outro. A socialidade delimita
e estrutura a ao, tambm de vrias maneiras, por exemplo: a herana gentica, o
habitus social, a linguagem como meio de comunicao, etc.; e (c) personalidade, ou
seja, pelo fato de o ser humano se constituir enquanto pessoa, enquanto um eu face a
um tu (que, primariamente, uma projeo do eu para fora de si mesmo, assumindo
Nesta seo, a inspirao fundamental veio da obra de JUNGES, J. R. Evento Cristo e Ao Humana. Temas
fundamentais da tica teolgica. So Leopoldo. Editora Unisinos: 2001, p. 47-52. Entretanto, no sigo sua
descrio bidimensional das estruturas da prxis, mas apresento uma compreenso tridimensional das estruturas
da ao. Tambm no adoto o termo antropolgicas que ele atribui a estas estruturas. Semelhantemente, ofereo
alteraes significativas tanto na descrio das estruturas e suas interrelaes, como na percepo da sua
concretizao na ao humana, ao invs de, como Junges, pensar em mediaes das estruturas pela conscincia
humana. Habermas, seguindo Husserl, fala, ao invs de estruturas, em mundos nos quais o ser humano se
encontra e vive (o mundo objetivo, o social e o pessoal). A preferncia pelo termo estruturas provm da maior
operacionalidade do mesmo, da sua maior plasticidade, bem como do fato dele evitar uma compreenso desses
mundos enquanto realidades relativamente estanques entre si, como foi o caso, na filosofia moderna, da distino
radical entre a pessoa humana e a cultura, de um lado, e a natureza de outro.
3
Tais estruturas devem ter uma pretenso de universalidade porque toda antropologia, mesmo partindo do ser
humano concreto, faz afirmaes universais que valem para todos da espcie humana. (JUNGES, J. R. op. cit.,
p. 47)
4
JUNGES, J. R. op. cit., p. 48
5Apesar da semelhana de linguagem, a descrio a seguir no se fundamenta em Heidegger.
www.teologos.com.ar
Teologa y cultura 11 (diciembre 2009)
57
a perspectiva de segunda pessoa), pelo que se pode falar do humano como um serconsigo-mesmo. A personalidade delimita e estrutura a ao humana por meio do
desejo, da dinmica psquica, da necessidade de construir identidade, etc. Estas trs
estruturas formam uma unidade complexa e tensa e, ao mesmo tempo em que
delimitam as possibilidades da ao humana, tambm convidam o ser humano
ultrapassar esses limites, convidam-no transcendncia em relao s mesmas. Essa
transcendncia, porm, no se dirige para fora, no cria um outro ser; mas se
mantm dentro dos limites da humanidade.6
Correspondentes s estruturas da imanncia, h, ento, as estruturas da
transcendncia, a saber: (a) a espacialidade, ou seja, o fato de que o ser humano
que vive no mundo nascido em um dado espao previamente existente, no se
conforma a ele, mas atua para transform-lo, para conform-lo aos seus sonhos,
interesses, desejos, ao seu projeto de vida7, pelo que se pode falar do ser humano
como presena-em (um lugar) e presena-a (outros seres vivos); (b) a da alteridade,
na medida em que o ser humano, nascido em um grupo social previamente dado, no
se conforma absolutamente a esse grupo, mas atua para deixar a sua marca,
especialmente para realizar um projeto de vida que ouve a interpelao do outro
enquanto vtima, a interpelao do outro enquanto clamor; pelo que podemos falar
do ser humano como abertura-ao-outro; e (c) a da temporalidade, na medida em que
o ser humano, como abertura-ao-futuro, embora nascido em um tempo que lhe
prvio, a ele no se conforma, mas age no presente para criar um novo, sem
desconsiderar, entretanto, o seu passado. Em outras palavras, o ser do presente se
arraiga no no-ser-que-ainda-h-de-ser. Isso assim porque tempo devir, e devir
projeo para o que no . Abertura para o que ainda-h-de-ser uma abertura ao
indito vivel, que se tornou disponvel no presente histrico. O indito vivel uma
crtica ao que dado no presente e d sentido ao presente enquanto devir histrico.8
Desta forma, se pode falar do ser humano como sedento de Deus, o ser-futuridade
por excelncia.
Semelhantemente s estruturas da imanncia, as da transcendncia tambm
formam uma unidade complexa e tensa. Analiticamente distinguimos com clareza
essas estruturas, na prtica, porm, no as experimentamos separadamente, mas
como um sistema unificado e tenso de foras que delimitam e possibilitam o nosso
agir.
As estruturas nticas constituem, por fim, os eixos fundamentais da ao
humana, que so: (a) criatividade, ou seja, toda ao humana intencional e
teleolgica, intenciona um fim, um propsito anteriormente planejado. Esse fim
algum tipo de alterao do mundo previamente dado, por exemplo: a moradia, que
visa superar parcialmente alguns dos limites impostos pelo clima, pelo espao
6
Cabe aqui a seguinte lembrana: a razo pode retirar-se para as idealizaes das pretenses de validade e para a
pressuposio pragmtico-formal dos mundos, renunciando a todas as formas de conhecimento totalizante, por
muito ocultas que estas estejam, ao mesmo tempo que exige, por outro lado, das comunidades de comunicao
(estabelecidas nos seus contextos de mundo de vida respectivos), uma antecipao universalista de uma silenciosa
'transcendncia do interior' que faa justia ao carcter irrefutavelmente incondicional daquilo que considerado
verdadeiro e o que deveria s-lo. (HABERMAS, J. Alguns esclarecimentos suplementares sobre o conceito de
racionalidade comunicativa, in Racionalidade e Comunicao. Lisboa. Edies 70. 2002, p. 218)
7
O espao em si pode ser primordialmente dado, mas a organizao e o sentido do espao so produto da
translao, da transformao e da experincia sociais. O espao socialmente produzido uma estrutura criada,
comparvel a outras construes sociais resultantes da transformao de determinadas condies inerentes ao
estar vivo, exatamente da mesma maneira que a histria humana representa uma transformao social do tempo.
(SOJA, Geografias Ps-Modernas. A reafirmao do espao na teoria social crtica. Rio de Janeiro. Jorge Zahar
Editor. 1993, p. 101s)
8
(JUNGES, J. R. op. Cit., p. 49)
www.teologos.com.ar
Teologa y cultura 11 (diciembre 2009)
58
natural. Assim, podemos falar do ser humano, em termos teolgicos, como cooperador de Deus, o criador por excelncia; (b) solidariedade, na medida em que,
como abertura-ao-outro, a pessoa humana no pode se limitar a viver isolada e
individualisticamente. Nas suas melhores expresses, a pessoa no s se indigna
diante da injustia, como tambm procura criar formas justas e adequadas de
convivncia social, pelo que se pode falar do ser humano, teologicamente, como
parceiro de Deus, o justo por excelncia; e (c) historicidade, na medida em que o ser
humano, como ser-consigo-mesmo, no existe como um objeto eterno, fixo,
imutvel, mas como um sujeito que se constri permanentemente, pelo que se pode
dizer do ser humano, teologicamente, que sedento de Deus, o sujeito por
excelncia.
As estruturas nticas acima descritas caracterizam o gnero humano. Em uma
linguagem mais tradicional, diramos que elas caracterizam a natureza humana.
Enquanto estruturas de gnero, no so criadas pela ao humana, embora possam
ser afetadas e modificadas por ela. As aes humanas, entretanto, no convvio social
e histrico das pessoas, acabam por gerar outro tipo de estruturas que
denominamos sociais mais prximas do cotidiano das pessoas, mais maleveis do
que as estruturas antropolgicas. Jogando com a linguagem poderamos dizer: as
estruturas antropolgicas so estruturantes da ao; as estruturas sociais so
estruturadas pela ao e tornam-se estruturantes da ao.
Estruturas sociais
Como expresso concreta da socialidade e da solidariedade, as pessoas se
agrupam e se constituem como sociedades, povos, culturas. As sociedades humanas
so, simultaneamente, fruto da ao das pessoas (interao e trabalho, na linguagem
sociolgica) e estruturadoras da ao humana. Existe uma complexa unidade tensa
entre a ao humana e as estruturas sociais. Por um lado, a ao humana coletiva
gera estruturas sociais, estas, por sua vez, passam a estruturar as possibilidades da
ao, de modo que se influenciam mutuamente.9
Atravs da ao, o ser humano produz simultaneamente objetos concretos e
objetos simblicos. No s produzimos coisas, como tambm as explicamos e lhes
damos sentido. Mediante o trabalho e a interao cotidianos, os grupos sociais vo
produzindo idias, valores, bens, instituies, etc. As sociedades, assim constitudas
pela ao, possuem uma realidade estrutural bidimensional: a dimenso a que
Habermas chama de sistema, ou seja, a estruturao geral dos produtos concretos da
ao e a dimenso a que ele chama de mundo-da-vida, ou seja, a estruturao geral
dos produtos simblicos da ao. Entendidos como estruturantes da ao, o sistema e
o mundo-da-vida devem ser vistos como estruturas complexas, caracterizadas
internamente, cada um deles, por quatro sub-estruturas que, grosso modo, se
correspondem, em uma unidade complexa e tensa. Entendidos como dimenses
estruturais da sociedade, sistema e mundo-da-vida no precisam, nem devem ser
vistos como realidades autnomas entre si, estanques, como que numa concepo
Neste ponto, voltaremos a nos inspirar na teoria habermasiana da ao comunicativa, com algumas distines
crticas e acrescendo-a de uma atualizao no tocante aos conceitos de mundo da vida e sistema. Alm disto,
tendo em vista que Habermas apresentou a sua teoria em um nvel de abstrao bastante elevado, ele deixou um
espao vazio entre o mundo-da-vida e o sistema, por um lado, e a ao concreta do ser humano no cotidiano,
por outro. Com vistas a preencher esse vazio, vou me valer de conceitos derivados, de um lado, da teoria
discursiva de sociedade desenvolvida especialmente nos estudos de Anlise do Discurso inspirados em Foucault e
Pechux; e, de outro, de conceitos derivados da teoria de sociedade de Bourdieu.
www.teologos.com.ar
Teologa y cultura 11 (diciembre 2009)
59
dualista da sociedade, mas como estruturas existentes apenas uma na outra, em uma
tensa unidade relacional.
Por exemplo: o Estado um dos componentes da dimenso sistmica;
concretamente constitudo pelas instituies estatais que manifestam o exerccio
dos poderes executivo (presidncia, governos estaduais, prefeituras, etc.), legislativo
(Cmara e Senado Federais, Assemblias legislativas, Cmaras municipais, etc.), e
judicirio (Tribunais, Procuradorias, etc.). Essas instituies, porm, possuem uma
dimenso simblica inerente (as idias, valores, conceitos que compem o mundoda-vida), e podem ser alteradas conforme se alteram os sentidos e os projetos de ao
a elas anexados. Os componentes do mundo-da-vida, por sua vez, no existem em
um vcuo. As normas e valores das interaes sociais so produzidas, debatidas,
concretizadas nas instituies do Estado e da sociedade civil.
A descrio que faremos dessas estruturas sociais baseada nas sociedades
ocidentais modernas. No discutiremos a evoluo histrica dessas estruturas, nem
apresentaremos uma discusso baseada em sociedades tribais ou orientais.
1. O Mundo-da-Vida
Habermas descreveu o mundo-da-vida como composto de trs sub-estruturas, as
quais denominou de cultura, sociedade e personalidade, ou paradigmas culturais,
ordens legtimas e estruturas pessoais como formas condensadas dos (e sedimentos
depositados pelos) seguintes processos que operam atravs da aco comunicativa:
entendimento, coordenao da aco e socializao.10 A estes trs componentes,
acrescento o da religiosidade11, ou dos paradigmas do sagrado, ausente da teoria
habermasiana a meu ver principalmente em funo do preconceito moderno
contra a religio, variadamente expresso em diversas teorias da sociedade12.
Cabe descrever esses componentes:
Cultura aquilo que definimos como reserva de conhecimento qual os
participantes na comunicao, ao entender-se uns com os outros, vo buscar as
suas interpretaes. Quanto sociedade, consiste nas ordens legtimas atravs
das quais os participantes na comunicao regulam as suas filiaes em grupos
sociais e salvaguardam a solidariedade. Na categoria de estruturas de
personalidade inclumos todos os motivos e competncias que permitem ao
indivduo falar e agir, assegurando desta forma a sua identidade.13
Por religiosidade, entendo o acervo de conhecimentos, valores, e rituais
adjetivados como sagrados, mediante o qual, os participantes da interao social
produzem sentido ltimo, com pretenso de universalidade, para a vida humana.
Esses componentes do mundo-da-vida se materializam na sociedade de formas
diversificadas: o conhecimento cultural materializa-se em formas simblicas em
10
HABERMAS, J. Aces, actos de fala, interaces linguisticamente mediadas e o mundo vivo in
Racionalidade e Comunicao. Lisboa. Edies 70: 2002, p.138
11
A partir da modernidade, necessrio levar em considerao que a religiosidade humana no mais se manifesta
exclusivamente em forma religiosa, mas tambm em formas a-religiosas, atias, seja utpicas ou ideolgicas. Na
linguagem da crtica frankfurtiana modernidade, se expressa tambm nos mitos modernos.
12
Habermas entende as religies como elementos pertencentes cultura, entretanto, como ele mesmo percebe,
existem religies mundiais que no se encontram delimitadas por sociedade especficas, mas as transcendem e
fazem sua incurso em inmeras sociedades. No s h religies mundiais, mas em todas as sociedades j
estudadas, a religiosidade um elemento sempre presente e influente na interao social, pelo que se justifica a
sua incluso, aqui, como uma das sub-estruturas do mundo-da-vida.
13
Idem, p. 139
www.teologos.com.ar
Teologa y cultura 11 (diciembre 2009)
60
objetos utilitrios e tecnologias, em palavras e teorias, em livros e documentos, etc. -,
tal como o faz nas aces. Quanto sociedade, toma forma nas ordens institucionais,
nas normas legais ou nas redes de prticas e costumes normativamente regulados.
Por fim, as estruturas de personalidade tomam forma, literalmente, no substrato dos
organismos humanos.14 A religiosidade, por sua vez, se materializa tanto em formas
simblicas (religies, mitos), quanto em ordens institucionais, normas sagradas e em
redes de prticas e costumes regulados pela religio, ou por sua negao.
A tabela abaixo15 sintetiza esta descrio do mundo-da-vida, enfocando
primariamente os processos reprodutivos dos componentes estruturais do mesmo:
Componentes
estruturais
Processos
reprodutivos
Reproduo
Cultural
Integrao
Social
Socializao
Tradio
Religiosa
Cultura
Sociedade
Personalidade Religiosidade
Esquemas
Padres
de
interpretativos
socializao
Cosmovises
Legitimaes
apropriados
Alvos
e
para
o
processos
consenso
educacionais
(conhecimento
vlido)
Obrigaes
Relaes
Membrezias
Membrezias
interpessoais sociais
religiosas
legitimamente
ordenadas
Motivaes
Realizaes
Motivaes
Habilidades
interpretativas para ao que interacionais para ao que
se conformam a
se conforma a
(identidade
normas
tradies
pessoal)
Tradies
Tradies
Crenas
Testemunho
epistemologica- existencialment
pessoal
mente
e normativas
Ordens
normativas
institucionais
A descrio prvia do mundo-da-vida apresenta os seus contornos ideais. Na
prtica, todavia, as interaes comunicativas no resultam apenas em pessoas e
sociedades permanentemente saudveis e bem ajustadas. Vrios fatores podem
provocar distores comunicativas e resultar em patologias pessoais e sociais, de
grandes ou pequenas propores, seja afetando o todo da sociedade, seja afetando
apenas segmentos da mesma. A prxima tabela16, assim, apresenta as principais
manifestaes de crise dos processos reprodutivos do mundo-da-vida:
Componen-tes
estrutu-rais
Cultura
Processos
reprodutivos
Reproduo Perda de
Cultural
sentido
14
Sociedade
Personalidade Religiosidade Dimenses de
avaliao
Crise de
Crise na
Crise de
legitimao orientao e sentido e
na educao esperana
Racionalidad
e do conhecimento
Idem, p. 141
Adaptada da Figura 21, HABERMAS, J. The Theory of Communicative Action. op. cit., p. 142
16
Adaptado, idem, p. 143
15
www.teologos.com.ar
Teologa y cultura 11 (diciembre 2009)
Componen-tes
estrutu-rais
Cultura
Sociedade
Processos
reprodutivos
Integrao
Social
Crise da
identidade
coletiva
Socializao Ruptura da
tradio
Tradio
Ruptura da
tradio
Anomia
61
Personalidade Religiosidade Dimenses de
avaliao
Alienao
Fuga da
Psicopatomotivao logias
Ausncia da Hipocrisia
normatividad
e tradicional
Intolerncia Solidariedad
e dos
membros
Conflitos
Responsabili
religiosos -dade pessoal
Fundamen- Confiabilitalismos
dade
interacional
Vejamos um exemplo de patologia no campo da religiosidade: uma determinada
tradio religiosa qualquer pode perder a sua validade na medida em que os seus
objetivos no so realizados na vida concreta das pessoas. Quando isso acontece,
ocorre uma ruptura da tradio dessa instituio religiosa, na medida em que a
mesma no mais cpaz de explicar totalmente a vida das pessoas. No caso mais
extremo dessa patologia, produz-se um esvaziamento da normatividade tradicional, e
as relaes entre os membros da instituico passam a ser regidas primariamente pelos
interesses de cada um, ou dos diferentes grupos que compem a religio. No mbito
da personalidade, a patologia mais evidente a da hipocrisia, ou seja, do noajustamento das crenas aos comportamentos dos indivduos. Como reo extrema a
essa ausncia de normatividade e ruptura tradicional, surgem os fundamentalismos,
ou seja, a defesa incondicional da tradio quebrada, sem aceitao da possibiliadde
de debater a validade da mesma.
As sociedades esto igualmente aparelhadas para resolver os seus problemas e
crises estruturais. Quando da ocorrncia de patologias sociais, de alcance macrosocial ou micro-social, as interaes comunicativas podem produzir efeitos
teraputicos, reajustando a sociedade, recolocando-a em equilbrio saudvel. A
seguir, acrescento uma tabela17 que sintetiza as funes reprodutivas da ao
comunicativa forte, necessrias para a terapia das interaes comunicativas:
Componentes
estruturais
Cultura
Sociedade Personalidade Religiosidade
Processos
reprodutivos
Reproduo Transmisso, Renovao doReproduo Transmisso,
Cultural
crtica,
conhecimento de
crtica,
aquisio de efetivo para aconhecimento aquisio de
conhecimento legitimao relevante para conhecimento
cultural
a educao em do sagrado
geral
Integrao
Imunizao Coordenao Reproduo Imunizao de
Social
de
um das aes via de padres deum estoque
estoque
pretenses de membrezia central de
central
de validade
social
orientaes
orientaes interreligiosas
valorativas
subjetivament
e
reconhecidas
17
Adaptada, idem, p. 144
www.teologos.com.ar
Teologa y cultura 11 (diciembre 2009)
62
Componentes
estruturais
Cultura
Sociedade Personalidade Religiosidade
Processos
reprodutivos
Socializao Enculturao Internalizao Construo Dilogo
de valores
da identidade religioso
Tradio
EnInternalizao Desenvolvime Testemunho
religiosizao de crenas
nto da f
pessoal
Ordens
institucionais
2. O Sistema
A outra dimenso das estruturas sociais a sistmica. Na teoria habermasiana, os
componentes do sistema so as estruturas derivadas dos meios sistmicos poder e
dinheiro, a saber, estruturas polticas e as estruturas econmicas da sociedade. Assim
como, na histria da humanidade, cada sociedade desenvolveu diferentes contedos e
formas do mundo-da-vida, tambm se produziram diferentes estruturaes das
relaes polticas e econmicas entre as pessoas. Na maior parte da histria das
sociedades humanas, os meios sistmicos de interao social no possuam
autonomia em relao aos meios comunicativos de interao social, e vice-versa.
Em outras palavras, a coordenao das aes em sociedade era realizada quase que
integralmente por meio da ao comunicativa (fraca) conquanto esta fosse
consolidada por fatores religiosos ou sagrados, que exerciam o papel principal na
organizao da vida social no mundo pr-moderno. Entretanto, medida em que o
mundo-da-vida das sociedades modernas foi se fragmentando e racionalizando18, e as
relaes polticas e econmicas foram se tornando cada vez mais conflitivas,
surgiram estruturas polticas e econmicas que aos poucos iam assumindo para si a
funo de coordenar a ao coletiva em sociedade, e fazendo com que a interao
social passe a ser coordenada estrategicamente. Isso significa que as interaes
sociais passam a ser comandadas, no mais pelo consenso, mas pelo sucesso de uns,
independentemente do dos demais:
Nos contextos de aco estratgica, a linguagem funciona, de um modo geral, de
acordo com o padro das perlocues19. Aqui, a comunicao lingstica est
subordinada aos pr-requisitos da aco propositada-racional. As interaces
estratgicas so determinadas pelas decises dos agentes que nas atitudes
orientadas para o sucesso se observam reciprocamente. Confrontam-se
mutuamente como adversrios, em condies de dupla contingncia, que, no
interior dos seus planos pessoais de aco, exercem influncia um sobre o outro.
18
No cabe aqui a argumentao demonstartiva dessas teses. Na Teoria da Ao Comunicativa, Habermas
desenvolve a noo de sistema a partir de uma releitura do conceito weberiano de racionalizao e
desencantamento do sagrado na modernidade ocidental. Embora no tenha desenvolvido amplamente a temtica,
M. Foucault apresentou sua verso desse processo de racionalizao, atravs da sua interpretao do poder
pastoral que, na Modernidade, se transferiu das instituies religiosas para as estatais. Ver, basicamente, O
Sujeito e o Poder, in RABINOW, P. & DREYFUS, H. Michel Foucault, uma Trajetria Filosfica. Para alm
do estruturalismo e da hermenutica, Rio de Janeiro, Forense Universitria: 1995, p. 231-249
19
Um ato de fala perlocutrio quando a sua validade no leva em considerao a resposta e adeso afirmativa
do ouvinte derivadas da avaliao das pretenses de validade subjacentes, mas sua aceitao se impe
monologicamente.
www.teologos.com.ar
Teologa y cultura 11 (diciembre 2009)
63
... Sendo assim at mesmo a estreita base de sinceridade reciprocamente
assumida desaparece: todos os actos de fala so destitudos de seu poder
ilocutrio vinculativo e associativo.20
Nas sociedades modernas, os meios sistmicos se desgarram dos meios
comunicativos, ou seja, se tornam autnomos em relao coordenao
comunicativa da ao, e passam a assumir cada vez mais o lugar principal de
coordenao da ao. Esses meios de coordenao no comunicativa da ao, j
esto, ento, estruturados como Estado (que assume o papel de nica instituio
social sancionadora legtimada) e Mercado (que assume o papel de nica instituio
econmica legtima). A descrio de Habermas faz justia s sociedades ocidentais
tpicas dos estgios inicial e mdio da Modernidade. No perodo da Modernidade
tardia, ou da ps-modernidade, deve-se acrescentar outros dois meios sistmicos que
se tornaram relativamente autnomos e passam a ocupar, com o poder e o dinheiro
(embora no to plenamente institucionalizadas estruturalmente como estes em
Estado e Mercado), funes de coordenao estratgica da ao humana: a cincia
(especialmente nas diversas formas de tecnologia de ponta) e a mdia (nas suas
diversas formas, como rdio, TV e, especialmente, a rede mundial de comunicao,
seja no sistema de satlites em geral, seja na internet em particular).
Componentes
estruturais
Processos
reprodutivos
Reproduo
Cultural
Integrao
Social
Socializao
Tradio
Cincia
Fragmentao
e reduo
unilateral do
conhecimento
vlido
Fragmentao
das interaes
Economia
Indstria
cultural
Mdia
Poltica
Espetaculariza Ideologias
Partidrias
o da vida
Relaes
Adeso
a
interpessoais estilos de vida
ordenadas pelo espetacularizad Membrezias
partidrias
os
capital
Educao
Motivaes
Identidade
Motivaes
formal
para ao que pessoal
para ao que
disciplinar
se conformam subordinada se conforma a
produo
e espetacularizad leis
consumo
a
Tradies
Tradies
Tradies
Organizao
cientificamente economicament midiaticamente monista
do
normativas
e normativas normativas
direito
Aparato
policial-militar
Essa distino (puramente) analtica , tambm, til para se entender e explicar a
estrutura das patologias sociais no Ocidente moderno (opresso, represso, luta de
classes, alienao, distrbios psicolgicos, anomia, perda de sentido, falta de
participao poltica, etc.). Para Habermas, essas patologias so o resultado da
colonizao do mundo da vida pelo sistema. A colonizao do mundo de vida se d
na medida em que os meios sistmicos (impessoais e instrumentais, com atos de
20
HABERMAS, J. Alguns esclarecimentos suplementares sobre o conceito de racionalidade comunicativa, op.
Cit., p. 211
www.teologos.com.ar
Teologa y cultura 11 (diciembre 2009)
64
linguagem perlocutrios) de coordenao da ao social subordinam a forma de
interao social regida pelo ao comunicativa, e subordinam, assim, as estruturas do
mundo da vida. Ou seja, quanto mais complexas se tornam as estruturas econmicas
e polticas e as instituies e avanos tecnolgicos e miditicos, mais elas se regem
por seus prprios interesses, tornando-se cada vez mais impessoais e repressoras da
liberdade e da interao comunicativa das aes humanas. Um claro exemplo dessa
colonizao dado pela forma tecnicista como so administradas as economias
nacionais. Os imperativos do sistema econmico assumem, permanentemente,
precedncia sobre as necessidades das populaes, de tal modo que o Estado passa a
assumir o papel de guardio do sistema econmico, de protetor da sade do mercado,
e no mais o garantidor do bem-estar da populao a ele subordinada.
A tabela a seguir indica as correspondncias estruturais primrias da colonizao
do mundo-da-vida pelo sistema:
Economia
Poltica
Cincia
Mdia
Relaes
Ordens sociaisValores
sociais
legitimadas sociais
delimitadas pela
legitimados
pela
tecnologia
pelo
membrezia
espetculo
partidria
Subordinao Reduo
ao
Religiosidade Caracterizada Crenas
pela produo legitimadas do sagrado
consumo e
e consumo de pela eficcia
privatizao
bens sagrados de controle da
ao
Subordinao Subordinao Estoque
de Industrializa
Cultura
dos
saberesdos
saberes conhecimento o dos bens
legtimos
aos interesses legitimado
culturais
utilidade
dede Estado
pela eficcia
mercado
tcnica
Formas
Formas
Formas
Personalidad Formas
identitrias
identitrias
identitrias
identitrias
e
subordinadas legitimadas legitimadas
legitimadas
posse
depela
pela
pelo
capital
subordinao subordinao espetculo
aos interessesao
saber
de Estado
cientfico
Sociedade
Ordens
sociais
legitimadas
pelo capital
Conseqentemente, a transformao social depender no s de mudanas
significativas nos processos reprodutivos da dimenso sistmica, mas, igualmente, da
descolonizao do mundo da vida, de modo que a interao social passe a ser regida
no exclusivamente pelos interesses estratgicos dos sub-sistemas dinheiro, poder,
cincia e mdia mas, principalmente, pela interao comunicativa entre os diferentes
grupos na sociedade, na construo de um consenso democrtico capaz de coordenar
a ao social na direo da emancipao e da justia social.
3. Do cotidiano sociedade
Conforme mencionamos acima, a teoria de Habermas enfoca primariamente o
nvel mais abstrato das grandes estruturas do sistema e mundo-da-vida, no se
ocupando da descrio do espao vazio entre a ao cotidiana das pessoas e essas
grandes estruturas. Para preencher esse vazio, utilizo-me de termos e conceitos
www.teologos.com.ar
Teologa y cultura 11 (diciembre 2009)
65
derivados, por um lado, da Anlise do Discurso Francesa e, por outro, da sociologia
de P. Bourdieu21. Como no caso da descrio do sistema e mundo-da-vida, tambm
neste ponto a apresentao se refere s sociedades ocidentais modernas.
Na vida cotidiana, as pessoas conversam e agem, e como fruto de suas conversas
e aes, produzem objetos simblicos e objetos concretos que vo se configurando
em diversos nveis de abstrao, at constituir as grandes estruturas abstratas da
sociedade. No primeiro organograma22, sintetizo os diferentes nveis de configurao
das relaes e dos objetos simblicos produzidos a partir da interao cotidiana em
sociedade; no segundo, os diferentes nveis de configurao das relaes e dos
objetos concretos. Como no caso do sistema e mundo-da-vida, a distino entre estas
duas ordens configuracionais meramente analtica. Na vida social essas subestruturas da ao existem umas nas outras, no separadamente, e se influenciam
mutuamente.
Ao conversarmos e agirmos em sociedade, produzimos representaes dos
nossos mundos (objetivo, social, subjetivo). Algumas dessas representaes tornamse mais aceitas socialmente e vo se transformando em textos23 (verbais, escritos,
pictricos ...). Esses textos vo se tornando mais complexos e se configurando em
discursos24, que representam diferentes vises de algum aspecto dos nossos mundos.
Esses discursos, que expressam tambm conflitos sociais, se aglutinam por
afinidade em formaes discursivas25, as quais, por sua vez, tambm, por
afinidade, se aglutinam em formaes ideolgicas26, todos esses nveis representando
tanto os acordos quanto os conflitos simblicos em uma dada sociedade.
21
Para definies mais abrangentes e discusso conceitual, deve-se consultar as obras desses referidos tericos.
A forma de organograma vivel na medida em que destaca: (a) a interrelao entre os diferentes sub-sistemas
e seus componentes; e (b) indica os diferentes nveis de abstrao das diversas aes e seus produtos simblicos
e/ou concretos. Possui limites, porm, e os organogramas no devem ser lidos literalmente como se expressassem
a hierarquia organizacional de uma instituio qualquer.
23
De Beaugrande e Dressler (1981: cap. 1) definem o texto como uma 'ocorrncia comunicacional' que satisfaz a
critrios interdependentes: 1- um critrio de coeso, perceptvel em particular no jogo das dependncias entre as
frases [ou elementos componentes do texto no-lingstico]; 2- um critrio de coerncia ... 3- um critrio de
intencionalidade: o enunciador visa a produzir um texto susceptvel de ter um efeito determinado sobre o coenunciador; 4- um critrio de aceitabilidade: o co-enunciador espera interpretar um texto que venha se inscrever
no seu mundo. (MAINGUENEAU, D. Termos-Chave da anlise do discurso. Belo Horizonte. Editora UFMG:
1998, p. 140s.)
24
a lngua, definida como sistema compartilhado pelos membros de uma comunidade lingstica, ope-se ao
discurso, considerado como um uso restrito desse sistema. Pode tratar-se: 1- De um posicionamento num campo
discursivo (o discurso comunista, o discurso surrealista...); [...] Discurso/texto: o discurso concebido como
a associao de um texto a seu contexto. (MAINGUENEAU, D. op. cit. p. 44s.)
25
Tem-se hoje tendncia a empregar a noo de formao discursiva sobretudo para os posicionamentos
'ideolgicos' marcados; fala-se, tambm, mais facilmente, de formao discursiva para os discursos (polticos,
religiosos ...) que esto em concorrncia num campo discursivo ... uma formao discursiva s se constitui e
mantm atravs do interdiscurso. Opomos a formao discursiva como sistema de regras superfcie discursiva
[discurso], quer dizer aos enunciados atestados que pertencem a essa formao discursiva. (MAINGUENEAU,
D. op. cit., p. 69)
26
Pcheux adiantava que toda formao social possvel de se caracterizar por uma certa relao entre classes
sociais, implica na existncia de 'posies polticas e ideolgicas, que no so o feito de indivduos, mas que se
organizam em formaes que mantm ente si relaes de antagonismo, de aliana, ou de dominao'. Essas
formaes ideolgicas incluem 'uma ou vrias formaes discursivas interligadas, que determinam o que pode e
deve ser dito ... a partir de uma posio dada numa conjuntura dada' (Pcheux et al., 1990:102).
(MAINGUENEAU, D. op. cit., p. 68)
22
www.teologos.com.ar
Teologa y cultura 11 (diciembre 2009)
66
Dimenso Discursiva da Sociedade
Poltica
Religiosidade
Cincia
Cultura
Formao
Discursiva
Texto
Representao
Sistema
Mundo da Vida
Formao
Ideolgica
Formao
Ideolgica 2
Formao
Discursiva 2
Formao
Discursiva 3
Discurso
Discurso 2
Texto
Representao
Interao e
Trabalho
Economia
Sociedade
Interao e
Trabalho
Texto
Representao
Interao e
Trabalho
Mdia
Personalidade
Formao
Ideolgica 3
Discurso 3
Texto
Representao
Interao e
Trabalho
Interao e
Trabalho
Simultaneamente, ao nos relacionarmos e agirmos, vamos constituindo grupos
sociais primrios, pouco estruturados e normatizados (e.g. famlia, bairro, grupos de
amigos ...). A partir desses grupos sociais, as interaes e trabalhos vo se tornando
mais normatizados e complexos, formando instituies27 sociais (e.g. escolas,
empresas, partidos polticos ...). As instituies, por sua vez, por afinidade de aes e
normatizao, configuram campos28 de atuao na sociedade (e.g. campo econmico,
campo poltico, campo educacional ...).
A evoluo das sociedades tende a fazer com que surjam universos (que chamo
de campos) que tm leis prprias, so autnomos. As leis fundamentais so, com
freqncia, tautologias. A do campo econmico, elaborada pelos filsofos
utilitaristas: negcios so negcios; a do campo artstico, explicitamente
colocada pela escola que se diz da arte pela arte: a finalidade da arte a arte. [...]
Temos assim universos sociais com uma lei fundamental, um nomos
independente de outros universos, que so auto-nomos, que avaliam o que se faz
a, as questes que a esto em jogo, de acordo com princpios e critrios
irredutveis aos de outros universos.29
27
As instituies sociais podem ser entendidas como conjuntos especficos e relativamente estveis de regras e
recursos, juntamente com as relaes sociais que so estabelecidas por elas e dentro delas ... Para fins analticos
podemos distinguir entre instituies especficas, como a Ford, e aquilo que podemos chamar de instituies
genricas ou sedimentadas. Por estas ltimas quero significar a forma configuracional de instituies especficas,
uma forma que pode ser abstrada das instituies especficas e que persiste no fluxo e refluxo de organizaes
particulares. (THOMPSON, J. B. Ideologia e Cultura Moderna. Teoria Social Crtica na era dos meios de
comunicao de massa. Petrpolis. Vozes: 1995, p. 196s)
28
um campo de interao pode ser conceituado, sincronicamente, como um espao de posies e,
diacronicamente, como um conjunto de trajetrias... Essas posies e trajetrias so determinadas, em certa
medida, pelo volume e distribuio de variados tipos de recursos ou capital. ... Podemos distinguir entre trs
tipos principais de capital: capital econmico... capital cultural... e capital simblico [...] Na busca de seus
objetivos e interesses dentro de um campo de interao, os indivduos baseiam-se tambm, especificamente, em
regras e convenes de vrios tipos. [...] Estas podem ser formuladas (estatutos, etc.) mas, em grande medida...
so implcitas, no formuladas, informais, imprecisas. Elas podem ser conceituadas como esquemas flexveis que
orientam os indivduos no curso de suas vidas dirias, sem nunca terem sido promovidas ao nvel de preceitos
explcitos e bem formulados. (THOMPSON, J. B. op. cit., p. 195s)
29
BOURDIEU, P. Razes prticas. Campinas. Papirus: 1996, p. 147s.
www.teologos.com.ar
Teologa y cultura 11 (diciembre 2009)
67
Podemos notar, na definio acima, algumas correspondncias com a teoria
social de Habermas: a fragmentao do sistema social, a relativa autonomia dos
meios sistmicos com suas leis prprias de funcionamento, e a ausncia de
coordenao comunicativa das aes coletivas. Um aspecto adicional de similaridade
complementar entre estes dois autores pode ser vista na descrio crtica que
Bourdieu faz das relaes pessoais nos campos, destacando o carter estratgico
dessas relaes:
A estrutura do campo pode ser apreendida tomando-se como referncia dois
plos opostos: o dos dominantes e o dos dominados. Os agentes que ocupam o
primeiro plo so so justamente aqueles que possuem um mximo de capital
social; em contrapartida, aqueles que se situam no plo dominado se definem
pela ausncia ou pela raridade do capital social especfico que determina o
espao em questo.30
Nas sociedades contemporneas, um outro fruto da ao coletiva concreta so os
movimentos sociais. Os movimentos no so fceis de se encaixar num organograma,
uma vez que eles representam normalmente a atuao opositiva de setores
sociais que se consideram injustiados ou prejudicados pelo sistema em geral, ou por
aspectos preconceituosos dos valores do mundo-da-vida. So mais organizados do
que os grupos sociais elementares, mas menos estruturados e duradouros do que as
instituies. Todos os sub-componentes do sistema so explicados, normatizados e
legitimados pelos sub-componentes do mundo-da-vida e, por sua vez, passam a
organizar as interaes comunicativas e a legitimar os seus diferentes produtos.
D im e n s o S is t m ic a d a S o c ie d a d e
P oder
R e lig io s id a d e
C i n c ia
C u lt u r a
I n s t it u i o
S o c ia l
S is t e m a
M u n d o d a V id a
E c o n o m ia
S o c ie d a d e
C am po
C am po
I n s t it u i o
S o c ia l
I n s t it u o
S o c ia l
M o v im e n t o
S o c ia l
M o v im e n t o
S o c ia l
C am po
M o v im e n t o
S o c ia l
G ru p o
S o c ia l
G ru p o
S o c ia l
G ru p o
S o c ia l
G ru p o
S o c ia l
In te ra o e
T r a b a lh o
In te ra o e
T r a b a lh o
In te ra o e
T r a b a lh o
In te ra o e
T r a b a lh o
30
M d ia
P e r s o n a lid a d e
In te ra o e
T r a b a lh o
BOURDIEU, P. O poder simblico. Rio de Janeiro. Bertrand: 1998, p. 21. Igualmente, a diviso do campo
social em dominantes e dominados implica uma distino entre ortodoxia e heterodoxia. ... Ao plo dominante
correspondem as prticas de uma ortodoxia que pretende conservar intacto o capital social acumulado; ao plo
dominado, as prticas heterodoxas que tendem a desacreditar os detentores reais de um capital legtimo. (idem,
p. 22)
www.teologos.com.ar
Teologa y cultura 11 (diciembre 2009)
68
Aspectos de um novo paradigma para o pastorado
Como um exemplo de discusso teolgico-prtica que incorpore este conceito de
estruturas da ao, poderemos examinar a atuao pastoral31. O ministrio pastoral ,
essencialmente, um ministrio coordenador das aes da comunidade eclesial.
Conseqentemente, possvel pensar em um paradigma comunicativo para o
exerccio do pastorado. Nesse paradigma, quatro so os eixos de atuao32 de
pastores e pastoras, conforme veremos a seguir. Os eixos de atuao no podem ser
confundidos com atividades de pastoreio, mas devem ser entendidos como a matriz
ordenadora de todas as atividades pastorais. Na pregao, no aconselhamento, na
administrao, no ensino, na visitao, o/a pastor/a estar simultaneamente cuidando,
mobilizando, formando e coordenando as aes do povo de Deus.
1. Cuidado
a. Cuidar a expresso do agir de Deus para com sua criao. Trs so as
caractersticas fundamentais do cuidado divino: valorizar (amar) a criao na mesma
medida que valoriza a Si mesmo; lembrar-se da criao como a beneficiria de seu
cuidado amoroso; reunificar a Criao sob o Deus encarnado, autor e consumador da
vida33.
b. Como os pastores cuidam da comunidade, em resposta ao de Deus e em
um paradigma comunicativo da ao?
(1) Permitindo-se, eles mesmos, serem cuidados: por Deus, primeiramente, e por
outros significativos. Nas palavras de Ray Anderson, ningum pode praticar um
auto-cuidado sadio a menos que seja parte de uma comunidade em que todos se
cuidam mutuamente34;
(2) Ouvindo as pessoas participantes da sua comunidade. Ora, o ouvir pressupe
que a comunidade tenha voz, que seus membros possam apresentar publicamente
seus interesses, desejos, projetos, etc.;
(3) Lembrando-se das pessoas de quem cuidam, ou com quem convivem:
rememorando e considerando suas alegrias e tristezas, seus projetos de vida, seus
nomes (enquanto expresso lingstica de suas identidades pessoais);
31
O termo pastoral, aqui, se refere primariamente ao trabalho de pastores/as de igrejas locais, embora o termo,
na teologia latino-americana, tenha conotaes bem mais amplas. A discusso deste tema na teologia e
missiologia latino-americanas, em especial, levanta amplos e profundos questionamentos sobre as estruturas
eclesisticas hierrquicas e sobre o modelo ainda clerical de formao e realizao do pastorado. Uma das
maneiras de resolver teoricamente a questo a constatao de que, por um lado, toda a comunidade crist
pastoreia mas, por outro lado, algumas pessoas so destacadas, na comunidade, para se dedicar mais
especificamente ao pastoreio e servir como exemplo e piv de unidade eclesial.
32
As aes abaixo relacionadas como eixos do ministrio pastoral so, de fato, aes da comunidade crist
como um todo. Tornam-se, porm, eixos do ministrio do(a) pastor(a) na medida em que ela a pessoa que tem a
responsabilidade de, ao pastorear a comunidade, dar exemplo de ministrio e vida, bem como exemplificar a
unidade ministerial da igreja..
33
O ser humano inventou a auto-destruio e uma civilizao consumista e predadora. O homem precisa liberarse da cultura da vergonha e da culpa. Neste caminho, deve se abrir para outra conscincia, a do cuidado. Cuidado
enternecimento e preocupao; atitude anterior aos atos concretos do homem; elimina o fantasma do medo.
No basta ser inteligente; a essncia do ser humano cuidar. (Boff, Curitiba, 1999). [citado em Do pessimismo
da razo para o otimismo da vontade: Referncias para a construo dos projetos pedaggicos nas IES
brasileiras. Documento do ForGrad, extrado da internet, do site do MEC)
34
ANDERSON, R. S. Ministry on the Fireline. A Practical Theology for an Empowered Church. Leicester. IVP:
1993, p. 217
www.teologos.com.ar
Teologa y cultura 11 (diciembre 2009)
69
(4) Ajudando as pessoas de sua comunidade a permanecerem unidas no amoroso
vnculo da paz, o que se manifesta em interaes sociais de cunho comunicativo e
no estratgico;
(5) Permitindo a cada membro da comunidade liberdade e espao para viver sua
vida, cometer seus erros, realizar seus projetos ...
2. Mobilizao
a. Mobilizar motivar as pessoas a se moverem de seus espaos de
comodismo, ansiedade, auto-centramento, para os espaos da comunho com Deus e
com o prximo, do servio comunidade e ao mundo, da vida em livre
solidariedade.
b. Como os pastores mobilizam a comunidade?
(1) Sendo porta-vozes da vocao divina, do chamamento divino vida de
liberdade e servio (cf. Mc 2,13-17; etc.) Nas palavras de Fowler:
A vocao no pode ser reduzida ao nosso trabalho, ou ocupao. A vocao
maior do que nossa carreira, ou profisso, embora possa incluir ambas. Vocao
a resposta que damos, com todo nosso ser, ao chamado de Deus
(conscientemente, ou no), e ao chamado de Deus comunho. Neste sentido
mais abrangente, vocao refere-se orquestrao de nosso lazer, nossos
relacionamentos, nosso trabalho, nossas vidas particulares, nossas vidas pblicas,
e aos recursos que administramos. a focalizao de nossas vidas no servio a
Deus e no amor ao prximo.35
(2) Sendo pessoas motivadoras da vida vocacionada, mediante o exemplo de vida (I
Ts 2:1-12; 2 Co 4:1-15) e mediante o seu discurso. A motivao pelo discurso s
ser libertadora se, efetivamente, for expresso dos valores do Reino de Deus e
encontrar a legitimidade de uma vida autntica.
3. Formao
a. Da identidade do povo de Deus
Formar identidade do povo de Deus uma aventura comunitrio-teolgica de estar
sendo permanentemente des-identificado e renovado por Deus em semelhana a
Jesus Cristo, o humano, contextual e universal (Rm 12:1-3; Ef 4;17-24). A identidade
do povo de Deus se constri na permanente tenso entre os imperativos da Palavra de
Deus, da instituio eclesistica, da vida comunitria e dos desafios da sociedade.
Um dos problemas estruturais mais complexos no processo de formao da
identidade coletiva o da ortodoxia (aqui, a palavra usada no sentido a ela dado
por Bourdieu, acima), que se configura como um processo dominador, que visa a
manuteno de uma identidade historicamente constituda, e que concebida, no
plo dominador, como permanente, nica, normativa. Neste caso, o pastor deixa de
cuidar e formar e passa a dominar a comunidade, impondo uma forma identitria de
cristianismo como se fosse a nica forma possvel de identidade crist.
b. Do discernimento do povo de Deus
35
FOWLER, J. W. Faith Development and Pastoral Care. Philadelphia. Fortress Press: 1987, p. 35
www.teologos.com.ar
Teologa y cultura 11 (diciembre 2009)
70
Para que o processo de formao de identidade no seja estratgico (ou, no seja a
imposio autoritria, pela instituio, de uma identidade permanente, a-histrica),
preciso que toda a comunidade exercite o discernimento, a fim de poder fazer as
escolhas mais adequadas nesse processo. Como vimos anteriormente, o sujeito do
discernimento a comunidade crist que, na sua prxis cotidiana, age para se tornar
cada vez mais semelhante a Jesus Cristo, especialmente no que tange fidelidade ao
Reino de Deus.
c. Para a misso do povo de Deus
Finalmente, o pastorado tem a funo de formar integralmente o povo de Deus para o
exerccio da misso da igreja. E principalmente no exerccio da misso que o povo
de Deus se forma, se con-forma, e constri sua identidade a partir das aes que
expressam a viso utpica da igreja, a fidelidade ao Reino de Deus e a sua
solidariedade compassiva para com o mundo criado por Deus.
4. Coordenao
Coordenar estabelecer, avaliar e manter uma ordem para a vida em
comunidade. A coordenao um conjunto de procedimentos polticos de cunho
democrtico-participativo, fundamentado na unidade de propsitos, diversidade de
funes (ministrios) e mutualidade de atuao (inter-dependncia). Coordenao,
aqui, se distingue de subordinao, na medida em que esta configura uma
estruturao hierrquica das relaes de poder, enquanto a coordenao configura
uma estruturao igualitria das relaes de poder. Na terminologia habermasiana, a
coordenao pastoral deve se caracterizar como coordenao comunicativa das aes
da comunidade eclesial.
Pastores e pastoras exercem uma funo de liderana na comunidade, juntamente
com ela, e no acima dela, com vista realizao dos seguintes objetivos:
a. o seguimento de Jesus no contexto, com vistas construo da identidade da
pessoa, em liberdade e servio, e da identidade da comunidade, em adorao e
misso;
b. a justa co-operao de cada parte na misso, abrindo espaos para a
contribuio ministerial de cada pessoa, participando na arbitragem comunicativa
dos conflitos na comunidade; e cuidando para que ningum seja prejudicado pelo
excesso ou falta de co-operao ministerial;
c. estabelecimento e manuteno de uma ordem institucional e interacional
baseada no pleno acesso tomada de decises, na igualdade de direitos, na partilha
de direitos e responsabilidades e na busca de paz com justia. Nas organizaes
institucionais e nas comunidades em que se aplica a coordenao comunicativa das
aes, o lema administrativo-poltico ser: o mximo de co-ordenao possvel, com
o mnimo de sub-ordinao necessrio.36
Por fim, a coordenao tambm abrange o processo de avaliao das aes
realizadas, com vistas a verificar os acertos e erros ocorridos, e aperfeioar
permanentemente a atividade eclesial e os seus projetos missionrios.
36
Neste tpico, o o exerccio do poder por pastores se torna uma questo fundamental. Infelizmente, por razes
de espao e abrangncia deste artigo, no poderemos discuti-la.
www.teologos.com.ar
Teologa y cultura 11 (diciembre 2009)
71
Concluso
Vimos, portanto, como a ao humana estruturada e examinamos um exemplo
de como utilizar o conceito de estruturas da ao para a elaborao da reflexo
teolgico-prtica. No prximo artigo discutiremos a questo da racionalidade da ao
humana, ou seja, aquilo que torna a ao compreensvel para os seus agentes e seus
pacientes, e que permite que ela se torne em objeto de estudo crtico e cientfico.
Tendo em vista os problemas que a Modernidade acarretou para a religio,
dedicaremos especial ateno dimenso religiosa (transcendental) da racionalidade
da ao. Como nos artigos anteriores, o prximo tambm trar, alm da discusso
terica, um exemplo de reflexo teolgico-prtica a partir do conceito de
racionalidade da ao.
www.teologos.com.ar
Você também pode gostar
- NV 015jn 24 Cnu Bloco 7 Ges Gov Adm Amostra Apostila ComplementoDocumento28 páginasNV 015jn 24 Cnu Bloco 7 Ges Gov Adm Amostra Apostila ComplementoprofessoramegumeAinda não há avaliações
- 2012 Projetos de Intervencao Educativa Geape 1Documento104 páginas2012 Projetos de Intervencao Educativa Geape 1Keithy E RebecaAinda não há avaliações
- A Teoria Dos Preços e o Comportamento Empresarial Hall e HitchDocumento5 páginasA Teoria Dos Preços e o Comportamento Empresarial Hall e HitchTaís Ribeiro Vargas de CastroAinda não há avaliações
- As Vantagens e Desvantagens de Um Programa de Expatriação - EnANGRADDocumento10 páginasAs Vantagens e Desvantagens de Um Programa de Expatriação - EnANGRADMarcus BrauerAinda não há avaliações
- CEBI - Centro de Estudos BíblicosDocumento4 páginasCEBI - Centro de Estudos BíblicoslucasmerloAinda não há avaliações
- A Última Longa Entrevista de Sigmund Freud - Revista BulaDocumento16 páginasA Última Longa Entrevista de Sigmund Freud - Revista BulalucasmerloAinda não há avaliações
- LV 16 AzazelDocumento19 páginasLV 16 AzazellucasmerloAinda não há avaliações
- Um Resumo de Romanos Por João CalvinoDocumento6 páginasUm Resumo de Romanos Por João CalvinolucasmerloAinda não há avaliações
- Tutoria Na Educação A DistânciaDocumento10 páginasTutoria Na Educação A DistâncialucasmerloAinda não há avaliações
- Anderson Gomes de PaivaDocumento0 páginaAnderson Gomes de PaivalucasmerloAinda não há avaliações
- A Identidade NarrativaDocumento11 páginasA Identidade NarrativalucasmerloAinda não há avaliações
- Revista Cafe Paulo Freire V3Documento181 páginasRevista Cafe Paulo Freire V3Alexandre Alves BatistaAinda não há avaliações
- Moreira, Egon Bockmann - Situações Disruptivas, Negócios Jurídico-Administrativos ...Documento16 páginasMoreira, Egon Bockmann - Situações Disruptivas, Negócios Jurídico-Administrativos ...Guilherme FontouraAinda não há avaliações
- Industrializacao No BrasilDocumento2 páginasIndustrializacao No BrasiljohankwokAinda não há avaliações
- Cidade Escassa e Violência UrbanaDocumento10 páginasCidade Escassa e Violência UrbanarubensgusmaoAinda não há avaliações
- Tercera Circular IV Cap (Portugues)Documento19 páginasTercera Circular IV Cap (Portugues)Tierras Bajas Santa CruzAinda não há avaliações
- TESE Mathias de Dominio Público Só Acadêmico Sem LucroDocumento298 páginasTESE Mathias de Dominio Público Só Acadêmico Sem LucroAlfred MCgregorAinda não há avaliações
- Inflacao e DesempregoDocumento27 páginasInflacao e DesempregoFenias JustinoAinda não há avaliações
- AnteprojectoDocumento20 páginasAnteprojectoAbrahamo Sansao MondlhaneAinda não há avaliações
- Natalia de Nardi DacomoDocumento307 páginasNatalia de Nardi Dacomofvg50Ainda não há avaliações
- Monografia Actualizada Clarice Com ObservacoesDocumento41 páginasMonografia Actualizada Clarice Com ObservacoesabondioAinda não há avaliações
- Apostila - Fome de Gols - Ericão Das ApostasDocumento21 páginasApostila - Fome de Gols - Ericão Das ApostasAntonio Batista Filho Batista da Honda100% (1)
- Cabedelo - PB 2020 (PROVA)Documento16 páginasCabedelo - PB 2020 (PROVA)Geanderson VerçosaAinda não há avaliações
- 1a Parte RedacaoDocumento43 páginas1a Parte RedacaohoraciomrAinda não há avaliações
- Tabela Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - Fipe PDFDocumento3 páginasTabela Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - Fipe PDFMauricio GonAinda não há avaliações
- Aula 6Documento4 páginasAula 6Eduardo SerejoAinda não há avaliações
- Portguês 5 - Significação Das PalavrasDocumento129 páginasPortguês 5 - Significação Das PalavrasminelatrilhaAinda não há avaliações
- Faculdade Metropolitana de Manaus - FAMETRO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PDFDocumento453 páginasFaculdade Metropolitana de Manaus - FAMETRO PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PDFJeffrey HaithAinda não há avaliações
- África No BrasilDocumento3 páginasÁfrica No BrasilAgatha Périco Machado CouraAinda não há avaliações
- Bibliografia EnsinoDocumento510 páginasBibliografia EnsinoFernanda TurossiAinda não há avaliações
- Projetos de Intervenção - Instrumento para Visualização Do Trabalho Do Assistente Social Nos Diferentes Espaços Sócio Ocupacionais Maria E SalvadorDocumento16 páginasProjetos de Intervenção - Instrumento para Visualização Do Trabalho Do Assistente Social Nos Diferentes Espaços Sócio Ocupacionais Maria E SalvadorIvanildo José Dos SantosAinda não há avaliações
- Dimensionamento de Reservatório para Aproveitamento de Água de Chuva PDFDocumento13 páginasDimensionamento de Reservatório para Aproveitamento de Água de Chuva PDFSol Avelar DutraAinda não há avaliações
- TyuioDocumento16 páginasTyuioRhuan CarlosAinda não há avaliações
- Síntese - Byung Chul HanDocumento2 páginasSíntese - Byung Chul HanDébora FrançaAinda não há avaliações
- Cláudia Roma TeseDocumento439 páginasCláudia Roma TeseDouglas Camilo Gonçalves D'AngeloAinda não há avaliações
- Economia - InflaçãoDocumento1 páginaEconomia - Inflaçãorodrigo defanteAinda não há avaliações
- Plano Diretor Turismo 2021 2023Documento171 páginasPlano Diretor Turismo 2021 2023Edson ChiaAinda não há avaliações