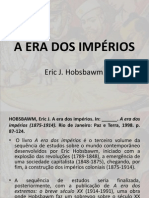Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Transição Política e Cotidiano Penitenciário
Transição Política e Cotidiano Penitenciário
Enviado por
Josival MouraTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Transição Política e Cotidiano Penitenciário
Transição Política e Cotidiano Penitenciário
Enviado por
Josival MouraDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Transio poltica e cotidiano penitencirio
Eda Maria GES1
RESUMO:
Este trabalho dedica-se ao estudo das dcadas de 1980 e 1990 no Brasil, a partir da transio poltica, mas procurando abordar tambm seus desdobramentos que se materializaram, em grande parte, nos anos 1990. A abordagem baseia-se no estabelecimento de relaes entre as mudanas polticas, em suas possibilidades e seus limites, e no cotidiano de instituies penitencirias do Estado de So Paulo inicialmente, e posteriormente em uma regio especfica, o Oeste Paulista. Chegou-se assim identificao das diferentes temporalidades prprias de cada uma delas, por vezes materializadas em fissuras no processo de democratizao que envolvia o debate acerca dos direitos humanos, alm da identificao das relaes de poder comuns e especficas. Penitencirias paulistas; Regime militar; histria do cotidiano.
PA L AV R A S - C H AV E :
Este trabalho dedica-se ao estudo das dcadas de 1980 e 1990, a partir da transio poltica que caracterizou o fim do regime militar no Brasil, mas procurando abordar tambm seus desdobramentos que, de acordo com a hiptese de trabalho adotada, se materializaram, em grande parte, nos anos 1990. Diante de tal desafio, a perspectiva adotada foi interdisciplinar, sob uma temtica especfica entendida como estratgica neste contexto poltico, que a questo da atuao das chamadas instituies de controle social, particularmente o caso das penitencirias do Estado de So Paulo. Desse modo, a participao num grupo de pesquisa composto por gegrafos, economistas e historiadores (GAsPERR Grupo de Pesquisa e Produo do Espao e Redefinies Regionais) que, alm de explorar a bibliografia produzida por outros cientistas sociais adotou um recorte regional (Oeste do Estado de So Paulo), permitindo trazer para o campo da Histria suas contribuies e, a partir deste campo, produzir novos e relevantes conhecimentos sobre essa temtica.
histria, so paulo, 23 (1-2): 2004
219
eda maria ges
A nfase na temporalidade se compreendida como mbito das mudanas e permanncias no como categorias excludentes, mas envolvendo movimentos contraditrios, avanos e retrocessos, alm de conferir especificidade abordagem histrica favoreceu o necessrio estabelecimento de relaes entre as diferentes contribuies dos outros profissionais de reas afins, ou seja, entre as diferentes dimenses das temticas em questo. O estabelecimento de relaes entre as mudanas polticas, em suas possibilidades e seus limites, com o cotidiano de instituies penitencirias do Estado de So Paulo inicialmente, e posteriormente de uma regio especfica, o Oeste Paulista, permitiu a identificao das diferentes temporalidades prprias de cada uma delas, por vezes materializadas em fissuras no processo de democratizao que envolvia o debate acerca dos direitos humanos, alm da identificao das relaes de poder comuns e especficas de cada uma. A partir da inaugurao de mais de dez dessas instituies durante os anos 1990 na regio estudada, as relaes entre o interior e o exterior das muralhas das penitencirias tem merecido ateno especfica, levando-se em conta, entre outros aspectos, o papel desempenhado pela mdia, como principal reestruturadora da chamada esfera pblica que, por conseqncia, torna-se uma das principais influncias nas representaes sociais produzidas sobre presos, criminosos, jovens infratores, agentes penitencirios, etc.
ANOS 1980: TRANSIO POLTICA E TENTATIVA DE HUMANIZAO DOS PRESDIOS PAULISTAS
No Brasil difundiu-se a idia de que os ltimos anos do regime militar, iniciado em 1964, caracterizaram-se como uma transio democrtica. A periodizao empregada, que situa essa transio na dcada de 1980, reveladora da estratgia das lideranas polticas de segmentos das elites para encobrir os embates que vinham caracterizando a cena poltica brasileira desde a dcada de 1970. Como qualificar o papel desempenhado pelas greves ocorridas na regio do ABC (na Grande So Paulo) em 1978 e 79? E quanto aos mo220
histria, so paulo, 23 (1-2): 2004
transio poltica e cotidiano penitencirio
vimentos de bairro contra a carestia? E a ampla mobilizao pela anistia dos presos polticos e exilados, articulada principalmente pela Comisso de Justia e Paz da Arquidiocese de So Paulo, da Igreja Catlica, e pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil)? A funcionalidade dessa conceituao reside, portanto, na definio de uma nica sada possvel para a ditadura: a democracia liberal, com o retorno s liberdades democrticas, legitimidade e ao interesse pelas questes sociais, porm sempre sob o controle das lideranas polticas tradicionais. A ampla movimentao iniciada na dcada anterior foi desqualificada pelo discurso poltico hegemnico e relegada ao esquecimento, restando mais uma vez uma histria oficial linear e harmnica. No que se refere s polticas penitencirias estaduais, Ferreira e Abreu observam que o perodo da ditadura militar nelas repercutiu diretamente, em primeiro lugar pela acentuada centralizao dos processos decisrios:
A guerra contra o inimigo interno, deflagrada pelo governo militar significou uma intensificao das atividades policiais, que correspondeu a uma canalizao de recursos para o reaparelhamento e modernizao da Polcia Militar, visando no apenas represso s organizaes polticas de oposio, mas tambm ao combate da criminalidade. Data dessa poca uma articulao, cada vez mais transparente e sempre crescente, entre o funcionamento do aparelho policial e do aparelho penitencirio.2
Transparece na crescente articulao detectada uma intensificao das caractersticas repressivas das instituies prisionais. No contexto da transio para a democracia, marcada pelo debate acerca da cidadania no Brasil, o governo Montoro (Estado de So Paulo: 1983 1987) procurou contrapor a tal quadro a Poltica de Humanizao dos Presdios implantada pela Secretaria de Justia (ento responsvel pelos presdios),3 tendo frente o advogado Jos Carlos Dias. O carter moderado das propostas implementadas nessa gesto indica que nunca se chegou a questionar as funes de violncia e punio, prprias do sistema penitencirio, mas apenas procurou-se executlas atravs de mtodos mais especializados e, portanto, menos violentos. O que se percebe que essas alteraes no fogem ao velho Modelo
histria, so paulo, 23 (1-2): 2004
221
eda maria ges
Panptico proposto pelo ingls Jeremy Bentham (sculo XVIII), baseado na total transparncia e visibilidade do crcere e dos corpos, mas avesso brutalidade fsica. Tal moderao era decorrente da ausncia de coeso poltica do governo estadual em torno da questo penitenciria, mas acabou por dificultar o envolvimento efetivo das entidades de defesa dos direitos humanos, muito atuantes na poca, em favor dessa poltica carcerria. Contraditoriamente, no entanto, as medidas propostas pela humanizao foram suficientes para desencadear uma srie de reaes de certos segmentos sociais, tais como os agentes penitencirios, os juzes, e alguns rgos da grande imprensa. O resultado final dessa intensa disputa de poder em torno das instituies penitencirias concretizou-se com a proximidade do perodo eleitoral,4 quando ganharam espao no interior do partido do governo estadual, o PMDB, aqueles que adotavam posies mais duras no tratamento da questo da segurana como um todo. O chamado pacote da segurana, lanado pelo ento vice-governador e candidato sucesso estadual Orestes Qurcia, constituiu-se como marco da vitria desses setores mais reacionrios do partido, ao provocar a demisso do secretrio Dias, em junho de 1986. Alm de revelar os estreitos limites das transformaes polticas e sociais que estavam em curso naquela conjuntura poltica, conhecida como transio democrtica, tal embate apontou tambm para as significativas barreiras defensivas que costumam impedir a introduo de qualquer alterao no cotidiano carcerrio. A partir da sada do secretrio Dias, as prises paulistas voltaram a ser tradicionalmente gerenciadas, ou seja, cotidianamente administradas atravs de um conjunto de prticas e procedimentos que transitam entre o formal e o informal, com grande autonomia e sem nenhuma transparncia, quer para outros rgos do Estado, quer para a sociedade civil. Para o pesquisador atento ficava, entre outras lies, aquela relativa importncia de se levar em conta uma pluralidade de sujeitos, quando se trata da questo carcerria, tanto diretamente envolvidos com o cotidiano da priso como os agentes penitencirios como indiretamente como os juzes e a mdia.
222
histria, so paulo, 23 (1-2): 2004
transio poltica e cotidiano penitencirio
ANOS 1990: UMA NOVA POLTICA PENITENCIRIA NO ESTADO DE SO PAULO?
A partir de 1997, a mdia foi um dos espaos de divulgao dos planos do governo Covas (1992 2001)5 para a rea carcerria, com destaque para a inusitada construo simultnea de 21 novas penitencirias, a maioria das quais situadas no interior do Estado de So Paulo. Mas a mdia tambm se tornou palco de denncias, debates, e principalmente de notcias sensacionalistas acerca do sistema penitencirio, sempre envolvendo a violncia. Para melhor compreender tal papel desempenhado pela mdia necessrio considerar que uma das peculiaridades do vasto repertrio de violncias contemporneas a visibilidade. Nesse sentido, o tratamento conferido ao tema da violncia garante que nos reportemos freqentemente mais a uma violncia representada que a uma violncia real. O que no significa que no haja uma relao entre o real e o representado, embora as relaes entre ambos sejam variveis, de acordo com o grau de sensacionalismo empregado, por exemplo. a partir desse referencial6 que podemos compreender o papel desempenhado pela mdia na construo de representaes acerca das instituies penitencirias e sua influncia, sobretudo em regies como o Oeste Paulista, em que centralizamos nossa anlise, com a questo tendo adquirido uma dimenso inusitada a partir de 1997. H uma revoluo em curso no sistema penitencirio paulista,7 com esta frase bombstica o ento secretrio de Administrao Penitenciria, Joo Benedito de Azevedo Marques, anunciou os planos, j em andamento, do governo Covas para a rea penitenciria. Seguiu explicando que sua face mais visvel a construo simultnea de 21 novas penitencirias e trs presdios semi-abertos, no maior projeto de ampliao de vagas em 50 anos.8 Embora se apressasse em estabelecer que tal revoluo no se resumia a levantar paredes e grades, o experiente secretrio no se referiu atuao do governo estadual na rea como nova poltica penitenciria. A hiptese desse trabalho era que se tratava de um esforo no sentido de diferenciar-se da ltima experincia paulista de interveno no setor, efetivada durante o governo de Franco Montoro, quando Azevedo Marhistria, so paulo, 23 (1-2): 2004
223
eda maria ges
ques tambm teve atuao expressiva como coordenador da COESP (Coordenadoria Estadual de Assuntos Penitencirios). A Poltica de Humanizao promovida pelo governo Montoro (19831987) no previa, no entanto, a construo de novas unidades penitencirias, resumindo-se, nesse mbito, a reformas, concluses de obras e a uma polmica proposta de duplicao de vagas em penitencirias, ento caracterizadas por celas individuais. provvel que isso se devesse sobretudo crise econmica engendrada durante o regime militar, cujas conseqncias foram fortemente sentidas pelos primeiros governos estaduais eleitos na dcada de 1980. Em 1997, rompendo o abandono longamente perpetuado da rea carcerria, o governo federal (sob a presidncia de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, mesmo partido do governador do Estado de So Paulo) anunciou a liberao de verbas destinadas construo de novas penitencirias na inteno de sanar o dficit herdado. No Estado de So Paulo, o Estado brasileiro portador da maior populao carcerria do Pas e da maior carncia de estabelecimentos penais, segundo dados do Censo Penitencirio de 1997, o dficit era de 11.652 vagas. Com a verba liberada pelo governo federal, o governo paulista lanou um megaprojeto que objetivava prioritariamente a desativao da Casa de Deteno de So Paulo9 e diminuio da superlotao dos Distritos Policiais paulistanos. Foram construdas 21 novas unidades prisionais fechadas e 3 semi-abertas, todas no interior do Estado, 13 delas no Oeste Paulista. Ante a crise econmica que j assolava o Brasil, materializada particularmente no desemprego, tornavam-se ainda mais limitadas as possibilidades da volta ao mercado de trabalho pelos presidirios. As pequenas e mdias cidades do interior paulista vivenciavam cotidianamente o fechamento de empresas, que no sobreviviam crise. Foi nesse contexto que as 18 mil vagas de trabalho estimadas para as novas unidades prisionais, a partir de investimentos de R$ 230 milhes, ganharam dimenso especfica. Dois discursos convergentes envolveram essas instituies, especialmente no perodo eleitoral em que foram inauguradas. Por um lado, o alvio prometido populao da capital paulista em funo da descentralizao da populao carcerria em direo s penitencirias
224
histria, so paulo, 23 (1-2): 2004
transio poltica e cotidiano penitencirio
do interior do Estado; por outro lado, a promessa de centenas de novos empregos para as regies interioranas, destacadamente afetadas pela crise econmica. Prefeituras ofereceram cursos preparatrios aos muitos candidatos locais para o preenchimento das vagas, mediante concurso pblico. Mas houve tambm casos em que a prorrogao de prazos de inscrio foi ocasionada pela falta de candidatos. Dentre aqueles que chegaram a se inscrever nos concursos, observava-se um desconhecimento generalizado das implicaes dessa opo, ou seja, do que significa trabalhar num presdio. Aqueles que tinham amigos ou parentes trabalhando no sistema penitencirio eram as excees. Ao longo do tempo, os novos funcionrios foram sofrendo o efeito de contgio que a priso exerce no apenas sobre os presos, mas tambm sobre os agentes que esto em contato constante com eles. Trata-se da chamada prisionalizao, j abordada por especialistas com alcances diversos,10 percebida de forma bastante concreta no cheiro de cadeia que impregna presos e agentes, e na linguagem carcerria a famosa gria de cadeia criada pelos presos, para no ser entendida pelos agentes, mas que acaba por ser incorporada por muitos deles, chegando inclusive s ruas. Por ltimo, um dos indcios mais significativos desse processo a tendncia partilhada de ocultar tudo o que ocorre na priso. Como observa Molina, pesquisando prises espanholas, parece aos envolvidos que quanto menos se fala da priso, melhor.11 Assim, constata-se uma regra comumente respeitada dentro do sistema penitencirio, a lei do silncio. Ela incorporada pelos novos agentes de forma muito rpida. A compreenso de que o seu papel de contato cotidiano e direto, nico e exclusivo, entre o interior e o exterior das muralhas no apenas desgastante e perigoso, mas pode tornar-se instrumento de poder, passando a ser ento explorada. Quanto menos se sabe mais fcil ser a dominao, como bem mostrou Michel Foucault.12 A multiplicidade de significados das altas muralhas um aspecto a ser levado em conta. To importante quanto a segurana, supostamente garantida pela conteno, a ausncia de transparncia. O olhar, ainda que parcial, do interior para o exterior garantido pelas telas das TVs. Mas o contrrio no verdadeiro. Do interior para o exterior, o olhar s penetra em situaes excepcionais, parcialmente durante as preparadas
histria, so paulo, 23 (1-2): 2004
225
eda maria ges
visitas, e em momentos de ruptura radical da ordem, durante motins e tentativas de fuga noticiadas pela mdia. Nestas raras ocasies, as atenes da sociedade voltam-se para a questo penitenciria que, representada como ameaa iminente, passa a preocupar a todos. De modo ambguo, a mdia reflete e influencia a discusso ento desencadeada. Mas isto sempre dura pouco, e ento o vu que costuma encobrir a questo penitenciria recolocado. Outro aspecto importante dessa lei do silncio o monoplio e a supervalorizao de um suposto saber prtico sobre o cotidiano carcerrio, de que nos fala Goifman,13 que pode ser identificado na frase freqente entre os agentes: Voc no est no raio,14 no sabe o que acontece, falar fcil, mas somente quem est no raio sabe como . Autorepresentando-se como um misto de vtimas e de heris, utilizam esse argumento para justificar prticas dificilmente aceitveis, ou simplesmente para encobri-las. Reforando a permanncia que caracteriza o aspecto ora discutido, lembramos as observaes do mdico Drauzio Varella sobre a Casa de Deteno de So Paulo:
Os jornalistas, por sua vez, so os mestres no desagrado, conseguem inimizades entre gregos e troianos. De medo que alguma vtima antiga lhes reconhea a fisionomia e novos processos aumentem o dbito com a Justia, os presos fogem das objetivas como o diabo da cruz. Apontar-lhes uma mquina fotogrfica ou cmara de TV faz com que cubram o rosto e desapaream mais depressa do que de uma metralhadora da PM. Os funcionrios tambm evitam a imprensa, dizem que ela s serve para criticar e distorcer tudo que dito.15
Nota-se neste caso uma certa conivncia. A ausncia de transparncia pode atender a interesses diversos, muitas vezes antagnicos, de agentes e presos. Todavia, a reivindicao da presena das cmaras de TV durante motins, por exemplo, alm de representantes do Poder Judicirio, cada vez mais freqentes, sugere a incorporao dessas novas tecnologias do olhar pelos presos, ao menos em certas situaes. Ademais, o papel desempenhado pela cmara de vdeo na pesquisa recente realizada por Goifman16 em penitencirias e distritos policiais brasileiros aponta no mesmo sentido.
226
histria, so paulo, 23 (1-2): 2004
transio poltica e cotidiano penitencirio
Mas as observaes de Varella17 desvendam tambm uma outra caracterstica das penitencirias, velhas e novas. Trata-se da sua incapacidade de aceitar crticas, s quais reagem sempre com maior fechamento, como tambm observou Molina18 nas penitencirias espanholas, atestando mais uma vez o carter intrinsecamente autoritrio dessa instituio. Dentre as caractersticas comuns s novas penitencirias, que sugerem o no-rompimento do padro encontrado nas antigas instituies prisionais, emergem posturas marcadamente competitivas dos agentes em relao aos presos. Ao contrrio de muitas outras questes, que s podem ser compreendidas atentando-se para as especificidades do microcosmo prisional, a questo da cidadania na sociedade brasileira a chave para o entendimento de to marcada competitividade. Partimos das observaes de Paoli que, discutindo a violncia brasileira, percebeu que muitos dos estudos sobre ela acabaram convergindo para o tema da cidadania, mas em geral no levaram em conta a heterogeneidade da sociedade civil em questo, limitando-se
[...] a refletir sobretudo a experincia daqueles que seja em funo de sua classe social, seja em funo de interesses sociais, profissionais e polticos j conhecem o contedo substantivo da cidadania como discurso e se sentem em condies de reivindicar sua promessa, isto , o direito ao poder.19
Constatamos que so pessoas que no tm a noo de cidadania que vem como regalia o reconhecimento de direitos bsicos dos presos, pobres como eles, porm pertencentes ao mundo do crime. Numa pesquisa desenvolvida em 1999 pelo Ncleo de Estudos da Violncia (NEV da Universidade de So Paulo USP), na periferia da Grande So Paulo, Adorno e Cardia20 observaram que o medo da violncia, longe de unir a sua populao, tende a opor uns aos outros. Aqueles que esto mais abaixo na estrutura social passam a ser vistos como os mais ameaadores. O que dizer ento dos presos, que alm de serem pobres, em sua imensa maioria, ainda cometeram crimes ? Num contexto em que para eu ter direito, algum no vai ter, porque no d para todos,21 isto , de escassez de direitos, a excluso se potencializa quando impede uma perspectiva mais ampla da sociedade que por direito teria que se ampliar, incorporando os cidados. Resta ento um processo de auto-afirmao centrado na reproduo da excluso.
histria, so paulo, 23 (1-2): 2004
227
eda maria ges
Como age a instituio penitenciria perante a essas disputas entre presos e agentes, que esto na base do seu cotidiano? Ao que tudo indica, ela refora tais relaes, ampliando seu controle sobre cada um dos segmentos envolvidos, ao apostar na potencializao da oposio historicamente construda com esse objetivo. Como mostrou Foucault,22 trata-se de desenvolver, dentro dos muros, estratgias de controle a serem aplicadas fora deles. Alm dos agentes, outros profissionais tambm participam do ambiente prisional, embora de maneira muito menos constante e intensa. Alguns deles compem a Equipe Tcnica, que tinha como principal funo a elaborao dos Exames Criminolgicos exigidos para a concesso dos benefcios aos presos.23 No obstante as boas intenes de muitos deles, na prtica a concesso dos benefcios tornou-se prioritria e burocrtica por significar a rotatividade entre os presos, ou melhor, a disponibilizao constante de novas vagas. H indcios de que esse poder, exercido com exclusividade pela Equipe Tcnica, no era bem-visto pelos agentes, que reclamavam pelo no-reconhecimento do seu saber construdo atravs da observao cotidiana dos presos. A despeito das melhores condies materiais oferecidas pelas novas penitencirias, o conflito interno entre os diretamente encarregados da segurana e os supostamente encarregados da reabilitao identificado nas antigas e superlotadas instituies se mantm, opondo profissionais sem qualificao, com longas jornadas de trabalho e remunerao inferior, a profissionais especializados que trabalham menos e so melhor remunerados. Mas alm dessas permanncias, tambm identificamos mudanas na atuao dos profissionais especializados. A partir da dcada de 1990, alguns deles tm transformado suas experincias no sistema penitencirio em trabalhos de pesquisa em forma de dissertaes e teses. Psiclogos, assistentes sociais e professores tm revelado assim a capacidade de manter um ponto de vista crtico, superando as dificuldades mencionadas relacionadas prisionalizao, e apontando para a possibilidade de rompimento da lei do silncio que costuma envolver as penitencirias. Desta maneira, vo ao encontro da proposta de Molina para o enfrentamento da questo penitenciria: [...] necessria a presena ativa de outras pessoas, no prisionalizadas e que tragam outros
228
histria, so paulo, 23 (1-2): 2004
transio poltica e cotidiano penitencirio
projetos, que no pertenam ao estrito, limitador e sufocante mundo da priso, que rompam essa tendncia de toda instituio total de fechar-se sobre si mesma.24 Mas, apesar do carter promissor desses trabalhos, permanece a contradio entre a rotina burocratizada de profissionais, como psiclogos e assistentes sociais, que deveriam desempenhar papel-chave na recuperao dos presos, e a crtica produzida por uma minoria, tanto sobre a instituio quanto sobre seu prprio desempenho profissional. Dentre esses profissionais especializados destacam-se, pela singularidade de sua posio no universo prisional, as professoras. Papel em geral desempenhado por mulheres, pouco valorizado, o que atestado inclusive pela baixa exigncia de seus concursos, baixa remunerao e pela sua designao como monitoras, em vez de professoras, garante o funcionamento de salas de aula normais, a saber, muito semelhantes s de qualquer escola. Quadro-negro, carteiras, material escolar bsico, com a presena da professora e de vinte a trinta alunos atestam tal normalidade. A grade nas janelas, a porta trancada e a figura de um agente do lado de fora, assim como o controle exercido pelo diretor de Educao sobre o acesso ao material escolar fornecido por uma fundao (FUNAP Fundao Professor Dr. Manoel Pedro Pimentel, da prpria Secretaria de Administrao Penitenciria do Estado de So Paulo), denunciam sua excepcionalidade. Segundo depoimentos colhidos junto aos alunos-presos, alm da oportunidade de aprender, a escola possibilita o rompimento cotidiano, ainda que por duas horas apenas, da rgida disciplina carcerria e da massificao a ela inerente. As professoras esforam-se por garantir possibilidades de expresso individual, que incluem crticas instituio, ao Estado, sociedade, e a autocrtica, alm de oportunidades cuja importncia s pode ser percebida por homens presos, como usar individualmente o banheiro. Tudo no maior respeito, no qual se baseia inclusive a autoridade de mulheres que se dispem a ficar sozinhas com esses alunos especiais, j que costuma partir delas a exigncia de que o agente encarregado de zelar pela segurana da escola permanea do lado de fora da sala de aula. Muitos presos chegam a dizer que quando vo escola ou quando dormem no se sentem encarcerados, demonstrando que a liberdade pode ter mltiplos significados.
histria, so paulo, 23 (1-2): 2004
229
eda maria ges
Dentre as dificuldades relatadas pelas professoras, destaca-se a alta rotatividade dos alunos (decorrentes das transferncias e benefcios), a dificuldade de acesso s aulas pelos alunos-presos, imposta por agentes penitencirios, alm da dificuldade de acesso ao material didtico, imposta pelo diretor de Educao. A partir desses relatos, podemos compreender a origem de tais problemas de duas maneiras: so decorrentes da forte prevalncia da segurana sobre qualquer outra funo no presdio e das j referidas disputas internas de poder. Ambas implicam uma representao negativa dos agentes sobre a escola. Do ponto de vista dos presos, a escola o espao onde eles tm um pouco de liberdade, em funo da rara oportunidade de se expressarem, de conversar com outras pessoas, aprender e principalmente de reativar a sua individualidade. A despeito disso ou, quem sabe, tambm por isso, da perspectiva dos agentes, a escola um empecilho a atrapalhar a rotina do presdio, que obriga a liberar os presos nos horrios estabelecidos em funo das aulas, alm de fazer revista antes de entrarem e aps sarem da sala de aula. Alguns agentes declaram abertamente que no deveria haver escola nos presdios, sugerindo que o ensino seja visto como uma regalia e no como um direito, numa inverso tpica da priso, na qual at mesmo o trabalho externamente visto como obrigao pode tornar-se regalia, sobretudo quando se trata de proibir o acesso do preso oficina, por exemplo, como forma de punio. Com o objetivo de tentar compreender como esse cotidiano penitencirio se constitui nos anos 1990, entre mudanas e permanncias, em sua relao com a histria das penitencirias brasileiras das ltimas dcadas e a histria social e poltica do Brasil no mesmo perodo, procuramos dar voz aos outros personagens dessa histria, alm dos presos. Mas pelos impedimentos mencionados anteriormente, alm das dificuldades impostas pelas autoridades responsveis, isso s tem sido possvel atravs do esforo de valorizao de indcios, aparentemente negligenciveis. Tal como prope Carlo Ginzburg, se a realidade opaca, existem zonas privilegiadas sinais, indcios que permitem decifr-la.25 Desse modo que mesmo prticas j institucionalizadas, como as aulas,26 continuam a ser desconhecidas da populao, constituindo-se em zonas opacas, porm valorizadas pelo pesquisador. Mas por que
230
histria, so paulo, 23 (1-2): 2004
transio poltica e cotidiano penitencirio
esse desconhecimento geral? A hiptese deste trabalho que isto se relaciona no apenas com as especificidades da instituio penitenciria, mas tambm com a atual conjuntura poltica e social do Brasil.
ANOS 1990: A POLMICA EM TORNO DA NOVA TERRITORIALIZAO DOS PRESDIOS PAULISTAS
Do ponto de vista poltico, uma das heranas fundamentais dos anos 1980 foi a promulgao de uma nova Constituio, em 1988, festejada por polticos tradicionais que fizeram oposio ao regime militar, como Ulisses Guimares, do PSDB, como Constituio cidad; interpretada pelo economista Francisco de Oliveira como a mais acabada que as condies histricas permitiam,27 e pelo historiador Boris Fausto como o reflexo dos avanos ocorridos no Pas, especialmente na rea da extenso de direitos sociais e polticos aos cidados em geral e s minorias.28 Mas se a questo poltica parecia ter se estabilizado no domnio da democracia liberal, do ponto de vista econmico os ndices de desemprego, a despeito da frieza dos nmeros, so eloqentes: conforme dados do Ministrio do Trabalho, de julho de 1994 at o incio de 1997 foram eliminados 755 mil empregos formais no Brasil; no perodo de 1990-1996 a cifra chega a 2,4 milhes. Um dos aspectos a serem analisados para a compreenso desse quadro, alm da referida mundializao do capital, foi a poltica de privatizaes adotada pelo governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) em seu dois mandatos (1995 2002). Ao apontar para mudanas nas relaes entre pblico e privado no Brasil, essa poltica ultrapassou o mbito econmico. De acordo com Oliveira, a privatizao do pblico uma falsa conscincia da desnecessidade do pblico.29 Desse ponto de vista, ocorre uma inverso do processo que construiu o Estado do Bem-Estar Social, quando houve uma privatizao do pblico e, em contrapartida, o publicismo do privado. A partir dos anos 1990 difundiu-se a ideologia das elites, segundo a qual o Estado est falido em funo da dvida pblica interna que, por sua vez, s se sustenta graas s contribuies da prpria elite, ou seja, como extenso do privado.
histria, so paulo, 23 (1-2): 2004
231
eda maria ges
Mas Oliveira esclarece que o processo real o inverso: a riqueza pblica, em forma de fundo, sustenta a reprodutibilidade do valor da riqueza, do capital privado. Essa a forma moderna de sustentao da crise do capital.30 Ainda segundo esse autor, h um outro aspecto trgico da privatizao do pblico em curso no Brasil, diretamente relacionado atuao da instituio de controle social mais visvel dessa sociedade a polcia. Muito se tem falado, desde o fim da ditadura, sobre a propalada impotncia do Estado de deter a onda de violncia que parece atingir a sociedade brasileira. Tal impotncia tem sido associada fundamentalmente sua incapacidade de monopolizar a violncia legal, por seu turno atribuda sua dilapidao financeira. A esse quadro se acrescenta um suposto desinteresse das elites pela polcia, em seu sentido literal, como instrumento pblico de monoplio da violncia. Ainda que associado ao desinteresse mais geral pela coisa pblica, Oliveira atribui ao mesmo um carter de falsidade, na medida em que implicou um isolamento material dessas elites em condomnios fechados, cercados por seguranas privados. Reconhecem, desse modo, um estado de guerra civil larvar e, em alguns casos, aberta,31 que por sua vez tambm decorre de tal omisso. Levando-se ainda em conta as constataes de Caldeira32 acerca do incio dos anos 1990, quando detecta que a crena no progresso deu lugar ao pessimismo e frustrao, a sentimentos expressos e organizados nas falas sobre o crime por ela colhidas, confirma-se a hiptese deste trabalho acerca das relaes entre o interior e o exterior das penitencirias, vale dizer, entre mudanas e permanncias sociais, polticas, econmicas e mesmo culturais, e a maneira como se representa, e conseqentemente, se trata o diferente, seja ele o criminoso, o louco, o homossexual ou o aidtico. No entender de Caldeira,33 no casual, portanto, a coincidncia temporal entre democratizao poltica e privatizao dos espaos pblicos, pelo contrrio, esses processos estariam intimamente relacionados. Como ele interpreta, tal privatizao seria um modo de reagir das elites ampliao do processo de democratizao, uma vez que funciona para estigmatizar e excluir aqueles que acabaram de forar seu reconhecimento como cidados.
232
histria, so paulo, 23 (1-2): 2004
transio poltica e cotidiano penitencirio
Por ltimo, ainda que os autores citados no o faam, consideramos fundamental acrescentar mais um elemento a esse quadro as novas caractersticas assumidas pelo desemprego no Brasil, nas ltimas dcadas. Trata-se da ausncia de perspectivas de retorno ao mercado de trabalho formal, o que, por sua vez, significa ser socialmente representado como descartvel, perigoso, e mesmo desumanizado. Da a relevncia adquirida atualmente pelo conceito de excluso social que, embora no se trate de um fenmeno novo, tem o mrito de apontar tambm para sua dimenso cultural, ajudando a desvendar a dramaticidade da situao vivida pelos tais excludos em pases como o Brasil e, por conseqncia, para o redimensionamento da importncia das instituies de controle social. Nesse contexto, cuja complexidade apenas comea a ser vislumbrada, que deve ser compreendida a polmica desencadeada pela nova territorializao dos presdios paulistas, em particular no Oeste Paulista, onde mais de vinte penitencirias esto concentradas desde os anos 1990. Como j foi mencionado, dois discursos convergentes envolveram essas instituies, mormente no perodo eleitoral (eleies para o governo estadual ocorridas em 1996) em que foram inauguradas o alvio prometido populao da capital paulista graas descentralizao da populao carcerria levada s penitencirias do interior do Estado e a promessa de centenas de novos empregos para as regies interioranas, particularmente afetadas pela crise econmica. Considerando-se os dados divulgados pela mdia acerca do crescimento do nmero de condenados, sugerindo a ineficincia de uma poltica penitenciria baseada na expanso de vagas e a mensagem implcita nos discursos citados de que o perigo estaria sendo deslocado para o interior, e ainda numa viso individualista crescente nessa conjuntura poltica tpica de uma sociedade cindida de que as grandes cidades produzem os criminosos, mas as pequenas e mdias que teriam que conviver com eles que a polmica foi sendo alimentada pela mdia e por polticos da regio, interessados em explor-la a seu favor. Assim, retornamos pergunta anteriormente formulada: Por que nada, ou quase nada se divulga acerca do cotidiano dos presdios, e em particular acerca das prticas voltadas ressocializao implementada no interior das muralhas?
histria, so paulo, 23 (1-2): 2004
233
eda maria ges
A hiptese deste trabalho de que prevalecem interesses eleitoreiros tambm no mbito do governo do Estado, principal responsvel pela poltica penitenciria. Isto significa que a temporalidade rpida e imediatista das campanhas eleitorais vista como inconcilivel com as mudanas lentas, alm de limitadas, das instituies prisionais. Outrossim, num contexto poltico em que a defesa dos direitos humanos tornou-se sinnimo de defesa dos direitos dos bandidos, numa deturpao obtida em virtude da interveno cotidiana de responsveis por programas policiais sensacionalistas, de rdio e de TV, mas tambm de autoridades da rea da Segurana Pblica freqentemente identificadas com a instituio policial, a divulgao de investimentos feitos na educao dos detentos poderia no ser bem vista pela populao, sobretudo num contexto de escassez de direitos34 que atinge at mesmo os trabalhadores. Ocorre ento a reproduo de representaes sociais acerca dos presdios limitadas contradio entre controle, como sinnimo de segurana, por um lado, e o perigo, associado ao desconhecimento acerca do que realmente acontece atrs das muralhas, com um tratamento sensacionalista dado questo penitenciria pela mdia, em geral, que em quase nada se diferencia da funo de vigiar e punir identificada por Foucault.35 Um exemplo do papel emblemtico desempenhado pela mdia na construo dessas representaes da violncia, e que tem influenciado diretamente o Oeste Paulista, diz respeito ao noticirio publicado a partir de 19 de fevereiro de 2001 sobre a ocorrncia simultnea de motins em mais de 20 penitencirias e casas de deteno da capital e do interior paulista. A partir da muito se falou acerca do PCC (Primeiro Comando da Capital), uma organizao de presos espalhada por diversas unidades prisionais, e sobre motins carcerrios ocorridos, possveis ou supostamente planejados. No caso dos jornais interioranos, a discusso foi direcionada para as reaes contra a possibilidade de que novas penitencirias viessem a ser construdas nas respectivas cidades. Desse modo, mais uma vez um acontecimento excepcional, que significou a quebra radical da rotina carcerria, fez com que um assunto pouco abordado pela mdia merecesse ateno, dessa vez ao longo de meses. Mas como pouco ou quase nada se fala dos presdios no seu dia-a-dia, sobre o seu cotidiano de isolamento, quando se enfatizam esses acontecimentos extraordinrios que so os motins de presos, explorando-os at a
234
histria, so paulo, 23 (1-2): 2004
transio poltica e cotidiano penitencirio
exausto de forma sensacionalista, produz-se uma imagem invertida dessas penitencirias, que passam a ser representadas como locais onde no h rotina por obra das manifestaes violentas e ameaadoras dos presos. O que excepcional assume, assim, a aparncia de regra. Em 2000, durante o ano todo ocorreram 25 motins no Estado de So Paulo, segundo dados da Secretaria de Administrao Penitenciria. Como 74 unidades penitencirias estavam funcionando no Estado, conclumos que a maioria delas no registrou nenhum motim. Isto sem levar em conta que a maior parte dos motins acaba sem qualquer fuga de presos, e em geral com eventuais mortos e freqentes feridos entre os prprios presos. Numa sociedade em que o diferente rejeitado, culpabilizado pelos problemas sociais e identificado com certos lugares como cortios e favelas, a representao do preso como desumano, perigoso e irrecupervel se radicaliza a partir dessas coberturas da mdia, como se o crime e, portanto, o criminoso no fizesse, intrnseca e contraditoriamente, parte dessa sociedade. Cerca de vinte anos depois de encerradas as lutas da sociedade civil pelo fim da ditadura, quando a prpria memria dessas lutas torna-se objeto de interesse exclusivo dos historiadores, os anos 1990 caracterizaram-se, na Histria do Brasil, principalmente pela consolidao da democracia liberal, pela crise econmica relacionada mundializao da economia,36 ao desemprego estrutural e nova excluso social, pelo aumento da violncia urbana e, mais ainda, pelo medo que passou a demarcar o cotidiano de quem vive nas cidades brasileiras. Caldeira observa que, como resultado dessa combinao, para muitas pessoas o dia-a-dia na cidade est se transformando numa negociao constante de barreiras e suspeitas, e marcado por uma sucesso de pequenos rituais de identificao e humilhao.37 Diante de tal quadro, como so representados os presdios com seu cotidiano demarcado por barreiras, suspeitas e humilhaes, para alm do isolamento? A banalizao desses procedimentos e a percepo de que para eu ter direito, algum no vai ter, porque no d para todos, ou seja, de que h escassez de direitos,38 sugerem que a resposta a essa questo, ainda que remeta ao j abordados neste trabalho, e mesmo a outros indcios de desrespeito grave a direitos humanos dentro dos presdios, como a exishistria, so paulo, 23 (1-2): 2004
235
eda maria ges
tncia de celas de castigo (potes, segundo a gria da cadeia) insalubres e caracterizadas como sobrepenas, punies violentas, que podem chegar a causar a morte em razo de envolvimento em motins, por exemplo, etc., no sinalizam apenas brechas ou fissuras na democracia ou na prpria sociedade brasileira, mas desvendam seus limites, contradies, enfim, problemas intrnsecos, ainda que, ou por isto mesmo, problemas renegados. Neste sentido, as altas muralhas penitencirias representariam tambm um esforo da sociedade de isolar por completo parte de si mesma.
GES, Eda Maria. Political transition and the quotidian of So Paulos penitentiary. Histria, v. 23 (1-2), p. 219-238, 2004.
A B S T R AC T :
This paper dedicate oneself to the study of the 1980s and 1990s decades in Brazil, since political transition, searching also to approach its extend that materialized, the most part, at the 1990s. The approach is based on establishing relations among political changes, its possibilities and its limits, and the quotidian of So Paulos prisons institutions initially, and afterwards of a specific region: the So Paulo western. We could reach, then, to identify distinct own temporalities of each one, sometimes materialized in fissures at democratization process that involved human rights discussion, besides the identification of common and specific power relationship. So Paulo State prisons; Military period; quotidian history.
K E Y WO R D S :
NOTAS
Departamento de Geografia Faculdade de Cincias e Tecnologia UNESP CEP 19.060-900 Presidente Prudente So Paulo Brasil. edagoes@prudente.unesp.br FERREIRA, R. M. F. e ABREU, S. A. F. Anlise do Sistema Penitencirio do Estado de So Paulo: O gerenciamento da marginalidade social. So Paulo: CEDEC, fev. 1987. p.70. (Relatrio de Pesquisa). A Secretaria de Administrao Penitenciria foi criada no Estado de So Paulo pelo governador Lus Antnio Fleury Filho, depois do massacre do Carandiru, ocorrido em outubro de 1992, quando 111 presos (nmeros oficiais) foram mortos pela Polcia Militar durante a represso a um motim na Casa de Deteno de So Paulo.
3 2 1
236
histria, so paulo, 23 (1-2): 2004
transio poltica e cotidiano penitencirio
Esse perodo eleitoral precede as eleies estaduais de novembro de 1986, nas quais Orestes Qurcia, do PMDB, foi eleito governador do Estado de So Paulo.
5
Em 2001, o governador Mrio Covas faleceu, durante o seu segundo mandato, e foi substitudo pelo vice-governador Geraldo Alckmin, do mesmo partido poltico, o PSDB, que por sua vez foi eleito governador no final do mesmo ano, tomando posse em 2002.
6 7 8 9
IMBERT G. Los escenarios de la violencia. Barcelona: Icaria,1992. O Estado de S. Paulo, 28.7.1998. Idem.
Desativada em 2002, a Casa de Deteno de So Paulo era considerada um verdadeiro barril de plvora, em funo da superlotao crnica e do histrico de motins violentos, entre os quais destaca-se aquele que ficou conhecido como massacre da Deteno (outubro de 1992). Sua localizao num bairro populoso da capital paulista tornava a sua situao ainda mais preocupante.
10
Como exemplo, ver: Molina, J. V. La carcel y sus consecuencias: la intervencin sobre la conducta desadaptada. Espanha: Editorial Popular, 1997, p.152. Idem, p.151. FOUCAULT, M. Microfsica do Poder. 11.ed., Rio de Janeiro: Graal, 1993.
11 12 13
GOIFMAN, K. Valetes em slow motion a morte do tempo na priso: imagens e texto. Campinas: Ed. UNICAMP, 1998.
14
Denominao de cada um dos corredores de acesso s celas, que compem a estrutura fsica das penitencirias. VARELLA, D. Estao Carandiru. So Paulo: Cia. das Letras, 1999, p.106. GOIFMAN, K. Op. cit. VARELLA, D. Op. cit. MOLINA, J. V. Op. cit.
15 16 17 18 19
PAOLI, M. C. Conflitos sociais e ordem institucional: cidadania e espao pblico no Brasil do sculo XX. Revista da OAB. So Paulo: Brasiliense, n. 53, p. 50, 1989.
20
ADORNO, S. e CARDIA, N. Dilemas do controle democrtico da violncia: execues sumrias e grupos de extermnio. In: SANTOS, J. V. T. dos. (org.) Violncia em tempo de globalizao. So Paulo: Hucitec, 1999, p.74. CARDIA, N. Razes da violncia. Problemas brasileiros. So Paulo, n. 333, maio/ junho 1999, p.9.
22 23 21
FOUCAULT, M. Op. cit.
A partir de decreto promulgado em 2004, as Equipes Tcnicas foram extintas e a deciso acerca da concesso de benefcios aos presos passou a ser tomada exclusivahistria, so paulo, 23 (1-2): 2004
237
eda maria ges
mente pelo juiz. Desde ento, o papel a ser desempenhado por assistentes sociais nos presdios est indefinido.
24 25 26
MOLINA, J. V. Op. cit., p.152. GINZBURG, C. Mitos, emblemas e sinais. So Paulo: Cia das Letras, 1989, p.177.
Outros projetos, voltados ao estmulo do processo de conquista da cidadania pelos presos, foram desenvolvidos em presdios paulistas durante os anos 1990: projeto Bem viver sade e saber e projeto de teatro nas prises Direitos Humanos em cena, por exemplo.
27 OLIVEIRA, F. de e PAOLI, M. C. (org.). Os sentidos da democracia. Polticas do dissenso e hegemonia global. Rio de janeiro: Vozes, 1999, p.65. 28 29 30 31 32
FAUSTO, B. Histria do Brasil. So Paulo: Edusp/FDE, 1996, p.525. OLIVEIRA, F. de. Op. cit., p.68. Idem. Idem, p. 69.
CALDEIRA, T. P. do R. Cidade de muros. Crime, segregao e cidadania em So Paulo. So Paulo: Ed. 34/Edusp, 2000.
33 34 35 36
Idem. CARDIA, N. Op. cit. FOUCAULT, M. Op. cit.
SANTOS, M. Por uma nova globalizao: do pensamento nico conscincia universal. Rio de Janeiro: Record, 2000. CALDEIRA, T. P. do R. Op. cit., p.319. CARDIA, N. Op. cit., p.9.
37 38
Artigo recebido em 08/2004. Aprovado em 11/2004
238
histria, so paulo, 23 (1-2): 2004
Você também pode gostar
- Avaliação Proficiência Pedagogia GabaritoDocumento7 páginasAvaliação Proficiência Pedagogia Gabaritoalmarciart404373% (11)
- Areas Verdes Texto PDFDocumento17 páginasAreas Verdes Texto PDFLucivanioJatoba100% (1)
- PPP 2010Documento35 páginasPPP 2010Jerônimo MedeirosAinda não há avaliações
- WEBER, Max. Economia e A Sociedade, Vol. 1. Cap. 1Documento17 páginasWEBER, Max. Economia e A Sociedade, Vol. 1. Cap. 1Jônatas Roque100% (1)
- Seminário - O Funk Como Símbolo Da Violência CariocaDocumento14 páginasSeminário - O Funk Como Símbolo Da Violência CariocaAugustoAinda não há avaliações
- Felix Guattari - Somos Todos Grupelhos (Revisado)Documento5 páginasFelix Guattari - Somos Todos Grupelhos (Revisado)Sergio A M HespanhaAinda não há avaliações
- UrbanismoDocumento11 páginasUrbanismoTalita SilvaAinda não há avaliações
- O Funcionalismo de Durkheim - o Fato Social e Sua FunçãoDocumento20 páginasO Funcionalismo de Durkheim - o Fato Social e Sua FunçãoMaria GabrielaAinda não há avaliações
- Seminário EsgDocumento5 páginasSeminário EsgMATHEUS FRANCISCO GERMANO DE PAULAAinda não há avaliações
- Questões Vestibulares Industria CulturalDocumento7 páginasQuestões Vestibulares Industria CulturalMary CruzAinda não há avaliações
- Acumulação Capitalista e Desigualdade Social PDFDocumento194 páginasAcumulação Capitalista e Desigualdade Social PDFBambinas de Laço100% (3)
- RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL II - Passei DiretoDocumento10 páginasRELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL II - Passei DiretoAdefisg SangoAinda não há avaliações
- Texto 2 O Que É Uma Educação DecolonialDocumento5 páginasTexto 2 O Que É Uma Educação DecolonialFabio Antonio50% (2)
- A Era Dos ImpériosDocumento10 páginasA Era Dos ImpériosFábio Leonardo Brito100% (1)
- TCC - Ficcionalidade e Processos de Subjetivação No Autismo - Marília WestinDocumento29 páginasTCC - Ficcionalidade e Processos de Subjetivação No Autismo - Marília WestinmariliawestinAinda não há avaliações
- Benjamin, Aura, ArteDocumento20 páginasBenjamin, Aura, ArteRui SousaAinda não há avaliações
- 1ano Gabarito 2 BimestreDocumento58 páginas1ano Gabarito 2 BimestreDani CastroAinda não há avaliações
- Currículo RN E. Fundamental Geografia-RecorteDocumento28 páginasCurrículo RN E. Fundamental Geografia-RecorteJoelma LinharesAinda não há avaliações
- SILVA HiperespetaculoDocumento16 páginasSILVA HiperespetaculoBeatriz Yumi AokiAinda não há avaliações
- Professor Peb II Portugu SDocumento10 páginasProfessor Peb II Portugu SRosangela RochaAinda não há avaliações
- 2 - Nocao de Pessoa Como Recurso Conceitual IDocumento15 páginas2 - Nocao de Pessoa Como Recurso Conceitual IPEDRO HENRIQUE CRISTALDO SILVAAinda não há avaliações
- Os Museus e o Novo Paradigma Do Turismo. - QUEIRÓS, António Dos SantosDocumento13 páginasOs Museus e o Novo Paradigma Do Turismo. - QUEIRÓS, António Dos SantosMuseologia UfgAinda não há avaliações
- 26 INV CIE 9ANO 4BIM Sequencia Didatica 2 TRTATDocumento9 páginas26 INV CIE 9ANO 4BIM Sequencia Didatica 2 TRTATLeonardo LopesAinda não há avaliações
- Administrativização Do Direito Penal EconômicoDocumento28 páginasAdministrativização Do Direito Penal EconômicoBia CupimAinda não há avaliações
- Libras IiDocumento212 páginasLibras IiAna Eudis Florencio Ferreira De Melo100% (2)
- As Mulheres e A Vivência Pós-CárcereDocumento264 páginasAs Mulheres e A Vivência Pós-CárcereInaldo Valões100% (1)
- Vinicius Rocha Machado UibaiDocumento76 páginasVinicius Rocha Machado UibaiPaulo Davila FernandesAinda não há avaliações
- E-Book 5 - Ética e Responsabilidade Social - Diagramado - RevisadoLPFAFIRECADEIRADocumento17 páginasE-Book 5 - Ética e Responsabilidade Social - Diagramado - RevisadoLPFAFIRECADEIRAGiovanna NascimentoAinda não há avaliações
- Cristina BarbosaDocumento47 páginasCristina BarbosaHudson RodriguesAinda não há avaliações
- Estudo Sobre As Representações de Cavalheiros No Universo de WesterosDocumento11 páginasEstudo Sobre As Representações de Cavalheiros No Universo de WesterosRobert PadilhaAinda não há avaliações