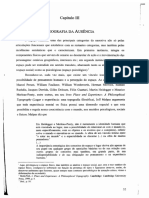Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Juliana Com Seg
Juliana Com Seg
Enviado por
Leandro Marcos0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
19 visualizações0 páginaDireitos autorais
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
19 visualizações0 páginaJuliana Com Seg
Juliana Com Seg
Enviado por
Leandro MarcosDireitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
ESCOLA DE TEATRO / ESCOLA DE DANA
PROGRAMA DE PS-GRADUO EM ARTES CNICAS
JULIANA RANGEL DE FREITAS PEREIRA
CANO DO MAR DE SALEMA:
UM PROCESSO DE CRIAO DE AMBINCIA SONORA
ARTICULADO PELA VOZ DO ATOR
Salvador
2007
JULIANA RANGEL DE FREITAS PEREIRA
CANO DO MAR DE SALEMA:
UM PROCESSO DE CRIAO DE AMBINCIA SONORA
ARTICULADO PELA VOZ DO ATOR
Dissertao apresentada ao Programa de Ps-
Graduao em Artes Cnicas, Escola de Teatro,
Universidade Federal da Bahia, como requisito
parcial para obteno do grau de Mestre em Artes
Cnicas.
Orientadora: Prof. Dra. Angela Reis
Salvador
2007
Pereira, Juliana Rangel de Freitas
Cano do mar de Salema: um processo de criao de ambincia
sonora articulado pela voz do ator [manuscrito] / Juliana Rangel de
Freitas Pereira. - 2007.
111 f: il.
Cpia de computador (printout (s)).
Dissertao (mestrado em Artes Cnicas) Escola de Teatro da
Universidade Federal da Bahia, Programa de Ps-Graduao em
Artes Cnicas, 2007
Orientador: Professora Doutora Angela Reis.
1.Teatro. 2. Fonoaudiologia preparao vocal. 3. Voz. 4. Cena
processo de criao. 5. Sonoridade I. Ttulo.
CDD: 792
CDU:
Dedi cada a mi nha t i a e madr i nha Teca por
es t ar et er nament e pr es ent e nos moment os de
conqui s t as e cr es ci ment os , s empr e vi br ando
comi go.
AGRADECIMENTOS
Este trabalho para ser realizado contou com a participao de muitos, em especial daqueles
que nos querem bem. Cada um contribuiu do seu jeito e com o seu conhecimento para a
construo desta pesquisa. Os agradecimentos so muitos... Que bom!
minha me Maria das Graas e ao meu pai Trajano por apoiarem e confiarem em mim.
Aos componentes da Cia de Teatro Rapsdia: Psit Mota, Bira Freitas, Alda Valria, Aline
Amanda, Ceclia de Brito, Will Silva, com quem arrisco com confiana e vontade.
Alda Valria por estar junto a mim, trocando figurinhas ao longo do laboratrio.
Aos meus amigos e talentosos atores: Jefferson Oliveira, Monize Moura, Mnica Mello,
Norma Suelly, Geniffer, Roberto Brito, Marita Ventura, Aline Amanda, Bira Freitas e Psit
Mota pelo carinho, apoio e cumplicidade durante todo o percurso do laboratrio prtico.
Meran Vargens, mestre que descortinou outras possibilidades do trabalho vocal do ator
para mim quando participei do seu doutorado. Utilizo tais conhecimentos nesta dissertao.
Ivani Santana e s meninas do Grupo de Dana Contempornea da Universidade Federal da
Bahia por incentivar a experimentao, noo de propsito na criao de jogos corporais
aprendidos, quando fiz a preparao vocal deste grupo.
Ao professor David pela traduo do resumo para a lngua inglesa.
Felipe de Assis pelas fotos do laboratrio de criao.
minha orientadora ngela Reis, por aceitar caminhar comigo junto a esta pesquisa de
mestrado e pela tranqilidade e carinho com que me ajudou a construir a dissertao.
Lcia Matos e Meran Vargens pela prontido com que aceitaram o convite para fazer parte
da banca de avaliao desta dissertao.
Ao CNPq, cujo apoio financeiro foi indispensvel para a realizao desta pesquisa
.
Hctor Briones, possuidor dos meus melhores sentimentos, primeiro interlocutor de tantas
angstias e maravilhas vividas durante este processo de pesquisa.
Aos colegas do PPGAC, Nana, Patrick, Fbio Vidal, Mnica Mello, Solange, Hctor Briones,
Janana Martins, Luiz Felipe, Paulo Cunha, Sandra, Duda Bastos, Renata, Rogrio Liberal...
Como foi bom compartilhar com vocs este aprendizado.
Aos professores do Programa de Ps-Graduao em Artes Cnicas: Srgio Farias, Lcia
Lobato, Suzana Martins, Antonia Pereira, Eliene Bencio, Christian Marcadet, Daniel
Marques, Ivani Santana pelo conhecimento compartilhado.
A Makrios Maia pela generosidade e sbias palavras nos momentos difceis do processo de
criao.
As minhas amigas que desde a poca da escola experimentam e questionam outras maneiras
de fazer trabalhos da escola e de prticas vivenciadas na faculdade de Fonoaudiologia: Iara
Colina, Juliana Alves, Nara Marambaia e Priscila Starosky .
A Edielsom, Edilane e Anilton, amigos que me socorreram tantas vezes para agilizar os
perrengues que aconteciam no computador.
Agradecer normalmente um risco que se corre, a gente fica devendo desculpas a muitos
tambm.
Mas ainda assim vale o risco. Muito obrigada!
E aquilo que o teatro ainda pode extrair da palavra so suas
possibilidades de expanso fora das palavras, de
desenvolvimento no espao, de ao dissociadora e vibratria
sobre a sensibilidade.
Antonin Artaud
Ouve-se prximo o rumor do mar exprimindo sonoridades como
as de algum que chorasse ou cantasse um canto alegre ou um
ninar de meninos, s vezes tambm rugidos, latidos, rumores de
coisas arrastadas, derrubadas [...] O mar como personagem nessa
pea intervm sempre [...] com esses rumores.
Joaquim Cardozo
RESUMO
A presente dissertao aborda o processo de criao do laboratrio A Ambincia Sonora na
Cena, instruindo exerccio de preparao vocal e a criao de jogos sonoros para composio
da sonoridade da cena, por meio da orquestrao das vozes dos atores associadas a sons de
objetos, utilizados no processo criativo. As reflexes presentes neste trabalho, trazem a
especificidade do som vocal do ator em cena; investigou-se a possibilidade de extrair dos sons
vocais seus desdobramentos, suas diversas formas de preencher o espao da cena. No
processo de criao descrito, o sentido da palavra como possuidora de uma nica idia
quebrado, favorecendo a descoberta de outros sentidos pelos atores por meio da combinao
dos seus parmetros vocais: timbre, musicalidade, ritmo, curva meldica, fora expressiva de
cada fonema, a respirao daquele que fala. A voz por si mesma encantada, trazendo
sensaes e imagens para o ambiente da cena. A construo desta dissertao sobre a
Ambincia Sonora na Cena teve como base os depoimentos dos atores coletados ao longo
do laboratrio somados anlise dos vdeos gravados durante os encontros, como tambm,
foi necessrio o cruzamento terico das reas de Fonoaudiologia, Teatro, Msica para a
reflexo da prtica desenvolvida. No que concerne a preparao vocal do ator, a integrao do
corpo com a voz, os parmetros da voz, noes da rea de Fonoaudiologia foram aplicadas
mediante a compleio corprea de cada ator, para a gerao de sons necessrios para compor
a Ambincia Sonora; o sentido do som independente de um contexto verbal, a partir da
percepo sinestsica do corpo, foi encontrado em estudos da rea de Msica; das Artes
Cnicas, os estudos do Teatro contemporneo contriburam com o despertar para a
necessidade cnica da voz preenchendo o ambiente onde a cena produzida, trazendo a tona o
efeito encantatrio da voz, agente propulsora desta pesquisa.
Palavras-chave: Teatro; Voz; Fonoaudiologia - preparao vocal; Sonoridade; Cena -processo
de criao.
ABSTRACT
The present thesis presents the creative process of the laboratory Scenic Ambient Sound,
instructing exercises of vocal preparation and the creation of sound games for scenic sound
composition. The orchestration of the actors voices, associated with the sounds from objects,
were utilized in this creative process. The reflections presented in this work seek to identify
the specificity of the actors vocal sound in scene, investigating the possibility of extracting
and unfolding from these vocal sounds an abundance of diverse forms that can fill and define
the scenic space. In the creative process described the notion of words as vehicles of single
ideas is broken, favoring the discovery of other meanings through exploration of
combinations of vocal parameters including timber, musicality, rhythm, melodic form,
expressive force of individual phonemes, and the actors respiration. The voice on its own
enchants, bringing sensations and images to the scenic ambient. The construction of this
thesis on Scenic Ambient Sound had as its basis the testimonies of the actor participants
collected throughout the laboratory and added to the analysis of videos recorded during the
encounters, with theoretic material gleaned from the areas of phonology, theater and music
for reflection of the practice as it was developed. In relation to the vocal preparation of the
actor, the integration of body with voice and the parameters of the voice, notions from the
area of phonology were applied by observation of each actor, for the generation of sounds
necessary for the composition of Ambient Sound. The meaning or sense of sounds
independent of verbal context was explored through the stimulation of synaesthetic perception
following studies from the area of music. Material from the scenic arts and contemporary
theater contributed to the development of the perception of the necessity of the voice filling
the scenic space, and of the potential of enchantment of the voice, the driving theme of this
research.
Key words: Theater; Voice; Phonology vocal preparation; Sonority; Scene creative
process.
LISTA DE FIGURAS
Figura 1 Impresso sobre a preparao vocal 43
Figura 2 Voz e corpo um s instrumento 45
Figura 3 A voz que anda por minhas ruas 46
Figura 4 Minhas lembranas 48
Figura 5 Mapa de frases soltas 51
Figura 6 Em um oceano s 52
Figura 7 A voz que se arrisca______________ 55
Figura 8 Entrando na intimidade 57
Figura 9 Rudo empedrado e cavernoso 59
Figura 10 Imagem da infncia 60
Figura 11 O som mudo 62
Figura 12 O corpo desnudo 63
Figura 13 Experimentao dos atores com objetos sonoros 74
Figura 14 O silncio da noite 75
Figura 15 O corpo dos fonemas_________________________________________ 80
Figura 16 As razes dos dedos das mos 94
Figura 17 Um homem que passa pelo tempo usando o mar como seu nico caminho 96
Figura 18 Das personagens que sou: uma fagulha do mar que chora 98
Figura 19 Das personagens que sou 100
Figura 20 Salema de um tempo qualquer 101
Figura 21 O mar derrama 102
SUMRIO
f.
1 INTRODUO 13
2 O AMBIENTE TERICO 19
2.1 ARTAUD E A PALAVRA ENCANTADA 19
2.2 O ATOR: POR UMA LIBERDADE SONORA NA CENA 23
2.3 PARA UMA AMBINCIA SONORA NA CENA 29
2.4 SALEMA DE UM TEMPO QUALQUER 31
2.4.1 Sobre Joaquim Cardozo 32
2.4.2 Sobre o Capataz de Salema 35
3 A INTIMIDADE DO CORPO COLETIVO 38
3.1 PREPARAO CORPORAL-VOCAL_________ 40
3.2 IMEDIATEZ SONORA 44
3.3 OLHAR COM O OLHO INTERNO 45
3.3.1 Corpo como mapa de memrias 47
3.3.2 Lembrana sonora da infncia 47
4 LEVANTAMENTO DE MATRIA SONORA 50
4.1 MATRIZES DE IDENTIFICAO 56
4.1.1 O trabalho com a silhueta 56
4.2 UM CORPO S 64
4.2.1 A vida e a morte 64
4.3 INSTALAO DE ATMOSFERA SONORA PARA O PROCESSO DE
CRIAO DOS ATORES 65
4.3.1 O ator recriando msica 68
4.3.2 O uso de materiais sonoros 72
4.3.3 O texto e o som 76
4.4 O CONTATO COM O TEXTO 78
4.4.1 A sonoridade de cada fonema 79
4.4.2 A primeira leitura do texto 83
4.5 A CONSTRUO DE ESTADOS CORPORAIS 86
4.5.1 A energia terra 88
4.5.2 A energia do combate 90
4.6 DAS PERSONAGENS QUE SOU-O FLUXO DE IMAGENS 92
5 CONCLUSO _____104
REFERNCIAS _____107
13
1 I NTRODUO
Esta dissertao nasceu de indagaes oriundas da vivncia profissional como
professora de voz para o teatro, com formao acadmica em Fonoaudiologia, rea do
conhecimento que estuda a comunicao humana, somadas a conhecimentos adquiridos na
rea de dana. Tendo a funo comunicativa da voz como eixo de pesquisa e desenvolvimento
desta prtica teatral, nasceram questionamentos sobre esta temtica, no que se refere: a
aquisio e desenvolvimento tcnico-expressivo vocal do ator, a sua aprendizagem vocal
associada a um processo de criao que envolve e no se separa do corpo, bem como fora
sonora como potencialidade expressiva para a construo da linguagem cnica.
O cruzamento de teorias e prticas experimentadas na formao acadmica e na
atuao profissional possibilitou pensar em prticas de exerccios que levassem em conta a
singularidade de cada pessoa, percebendo a sua diferena bio-psico-social e tambm a sua
capacidade de ser estimulada e reagir ao meio em que interage. Em outras palavras, dado um
meio diversificado, cada indivduo chega a um acordo a seu prprio modo. A partir dessa
associao, houve o despertamento para investigar a preparao e criao vocal do ator,
seguindo um caminho que focalizasse a relao voz-corpo, na sua integrao com as funes
desempenhadas pelo corpo no contexto dinmico da emisso do som no ambiente da cena.
A especificidade vocal do ator em cena exige uma qualidade especfica de projeo, de
articulao, curva meldica, uso de cavidades de ressonncia. O entendimento somente da
mensagem verbal apresenta-se deficitria para o teatro. Torna-se necessrio fazer com que o
espectador sinta a fora sonora de cada palavra, o seu som enquanto ao vocal, preenchendo
o espao da cena. necessrio que haja um abrao sonoro1, um envolvimento sonoro que
atinge o espectador, os outros atores da cena, quando o ator emite a sua voz na cena.
Dentro desta perspectiva, a voz do ator no est destinada somente a transmitir a
mensagem do texto literrio e faz-lo ser entendido. A voz parte do corpo do ator, transpondo
os limites da cena, da fala articulada, se esparramando no inarticulado. Este pensamento traz o
desejo de investigar a sonoridade da cena, indagaes sobre como preparar os atores para
1
Te r mo u t i l i z a d o p e l o M t o do Es p a o- Di r e c i o n a l d e Be u t t e n m l l e r ( 19 95) .
14
preencher sonoramente a cena, maneiras para fazer uma composio e criar uma ambincia
sonora. O sentido da cena nasce da sensao auditiva do som e imagens por ela sugeridas.
Para isso foi preciso desenvolver uma pesquisa que possibilitasse investigar exerccios
de preparao vocal para atores, pesquisasse sons de objetos, estabelecesse relaes sonoras
entre voz e sons de objetos, criasse alternncias de vozes em plena manifestao no jogo da
cena. Da interao sonora na cena, uma ambincia seria estabelecida, uma sonoridade
concreta, num turbilho de descobertas sonoras, que gerariam energia na forma de ondas
vibratrias no ambiente. Ondas sonoras se moldando, dialogando, respirando, definindo uma
linguagem cnica, que vai configurar o que aqui chamaremos de Ambincia Sonora.
Uma vez delimitado o objeto de pesquisa, houve a necessidade de investigao prtica
da temtica em questo. A Ambincia Sonora precisaria ser experimentada para que fosse
possvel a construo de procedimentos para a sua constituio. Para isso foi planejado um
laboratrio experimental, no intuito de investigar na prtica as idias que poderiam ser
levantadas a partir da temtica da constituio da Ambincia Sonora. Foi buscada a seleo de
dados tericos e prticos na prpria construo do objeto. Trata-se de uma exercitao
laboratorial, uma vez que no resulta, necessariamente em montagem, produo de
espetculo, concentrando uma maior parte do tempo da pesquisa no processo de criao.
Tendo o objeto solicitado uma investigao partindo da prtica e tambm j o trabalho
tendo sido iniciado com a Companhia Rapsdia de Teatro, atravs dos conhecimentos teatrais
adquiridos com ela, durante o processo de criao do espetculo Deus Danado dirigido por
Alda Valria, foi solicitada a participao daquela companhia no laboratrio Ambincia
Sonora na Cena.
Devido s suas peculiaridades, essa companhia foi escolhida para compor este trabalho
acadmico. A Cia. Rapsdia de Teatro tem como objetivo a investigao da linguagem teatral
centrada no trabalho do ator, por meio da experimentao do seu corpo-vocal e busca como
suporte terico os estudos teatrais desenvolvidos por Artaud e Grotowski para embasar os
seus fundamentos prticos e tericos. Acredita que o teatro fator de transformao social,
tanto para quem faz como para quem recebe e interage com a obra artstica. Ao longo dos
anos de trabalho da prtica cnica, pode-se observar a existncia de alguns episdios prticos
recorrentes nos seus processos de criao, sendo eles: o uso do basto com o objetivo de
15
trabalhar a ateno, prontido, confiana e agilidade dos atores; processos de criao nascidos
da improvisao no intuito de viabilizar a criao do texto potico no corpo-vocal do ator;
necessidade de manuteno tcnica para que os atores possam estar disponveis ao trabalho
corporal, com uma energia viva. A Companhia Rapsdia de Teatro foi fundada no ano 2000
em Salvador, por um grupo de artistas oriundos da Escola de Teatro da Universidade Federal
da Bahia com o objetivo de trabalhar e pesquisar a prtica teatral. Sua primeira montagem foi
O Espio de Bertolt Brecht, sob a direo de Tnia Flores. O espetculo foi selecionado para
representar a Bahia na II Bienal de Arte e Cultura da Unio Nacional dos Estudantes (UNE),
em So Paulo-SP. Em 2002, realizou o projeto Em Cena Plnio Marcos e montou o
espetculo Navalha na Carne de Plnio Marcos, dirigida por Alda Valria, destacando um autor
brasileiro. Em 2003, apresentou Deus Danado de Joo Denys, espetculo que participou
de festivais com 13 premiaes e de circulao nacional. Nesses espetculos, o grupo obteve
outra formao, enfatizando o processo de pesquisa da cena, redefinindo o seu perfil e foi
representado pelos seguintes artistas: Alda Valria, Aline Amanda, Bira Freitas, Ceclia de
Brito, Juliana Rangel, Psit Mota e Will Silva, seus atuais integrantes. Em 2006 a companhia
montou o espetculo A rvore dos Mamulengos de Vital Santos, dirigida por Alda Valria.
Durante o planejamento do laboratrio, verificou-se que esta pesquisa necessitaria de
mais atores alm dos integrantes da Companhia Rapsdia, pelo fato da investigao demandar
outras vozes para o estudo do processo de criao de uma Ambincia Sonora. Quando ento,
foi solicitada a participao de outros atores, com disponibilidade corporal e vontade de
ingressar neste processo de pesquisa. Buscou-se tambm, constituir um ambiente de criao
diversificado, onde os integrantes viessem de vivncias tcnicas, estticas e culturais
diferentes, proporcionando assim estmulos diversos para a prtica habitual de cada um
durante o processo de criao da Ambincia Sonora na Cena. Sendo assim, atores, atores-
danarinos, msicos, atores oriundos da escola de teatro, atores com outras formaes,
pessoas com idades variadas participaram do laboratrio, constituindo um grupo de dez
pessoas, nmero satisfatrio tambm para que houvesse a observao do processo de criao
de cada ator.
Os integrantes do laboratrio foram os seguintes atores, que autorizaram o uso dos
seus nomes neste trabalho acadmico: Psit Mota, Bira Freitas e Aline Amanda, integrantes da
Companhia Rapsdia de Teatro; Jefferson Oliveira e Norma Suely, atores-danarinos
convidados para a pesquisa durante as aulas ministradas para o Curso Livre da UFBA; Marita
16
Ventura, convidada para o laboratrio por meio da orientao vocal dada para o elenco da
pea Braseiro; Mnica Mello, mestranda e atriz que estuda os princpios do encenador
Eugnio Barba para o treinamento do ator; Roberto Brito, ator e msico; Monize Moura e
Genifer Gerhardt, atrizes-alunas da Escola de Teatro da UFBA.
O Laboratrio da Ambincia Sonora na Cena contou tambm com a participao dos
integrantes da Companhia Rapsdia Will Silva para filmagem de alguns encontros. Na etapa
final do laboratrio, houve a participao dos compositores Paulo Rios e Tlio Augusto,
integrantes do Oficina de Composio Agora (OCA) , grupo de msica contempornea
fundado em 2004, em Salvador por compositores e instrumentistas da Escola de Msica da
Universidade Federal da Bahia, contribuindo com a orquestrao de algumas ambincias
sonoras.
Ao todo, foram realizados 44 encontros com atores, tendo em mdia cada um, durao
de 3 horas, realizados nos meses de setembro, outubro e novembro de 2005 na sala 203 da
Escola de Teatro da UFBA, finalizando com 3 apresentaes para professores e alunos da
ps-graduao e graduao da UFBA, no mesmo espao onde ocorriam os ensaios. Os
encontros experimentais foram registrados por meio de fotografias, vdeo e tambm pelos
manuscritos redigidos pelos atores que tiveram como objetivo compreender o processo de
percepo do ator, revelados pela sua escrita, em relao a alguns pontos do laboratrio tais
como: criao de imagens e percepo da voz de cada ator e sua relao com o corpo,
mudanas corporais-vocais percebidas durante o laboratrio, processo de escolha de fraseados
sonoros criados e seu encadeamento ao longo da composio. Este material foi utilizado na
dissertao para demonstrar algumas propostas de exerccios e como relato das impresses
dos atores ao vivenciar o processo de criao.
Uma vez construdo os dados que compem o objeto desta pesquisa, os mesmos foram
analisados e organizados em blocos para a construo da escrita. Na medida em que o
laboratrio da Ambincia Sonora na Cena foi sendo relatado, cruzamentos tericos foram
estabelecidos, entrecruzando noes de outras reas do conhecimento, alm do Teatro, tendo
como base os dados levantados no laboratrio experimental.
No texto desta dissertao tornou-se necessria a nfase na palavra ator devido ao
prprio processo de criao que se deu fundamentalmente no corpo de cada indivduo
17
participante, agente de teatro. Ator tornou-se, em determinados momentos, o termo que no
poderia ser substitudo, o que a princpio daria uma impresso de falha gramatical, foi uma
aplicao necessria para assim traduzir a importncia do ator, enquanto corpo-vocal,
principal configurador da liguagem cnica experimentada.
Os captulos seguintes que tambm compem esta dissertao abordam os aspectos a
saber: o segundo captulo, O Ambiente Terico refere-se a reviso da literatura realizada ao
longo desta pesquisa de Mestrado, onde so utilizados estudos de reas que possibilitaram a
interdisciplinaridade entre Fonoaudiologia, Teatro, Dana, Msica e Antropologia para
compor o pensamento reflexivo e analtico da construo de dados durante a pesquisa de
campo que deram o embasamento terico e relato crtico desta dissertao; sob este ponto
acrescentou-se informaes sobre a palavra encantada no Teatro da Crueldade de Artaud,
perspectivas sobre o trabalho do ator baseadas nas prticas dos diretores teatrais Grotowski,
Peter Brook e Meyerhold, o sentido sinestsico do som nas noes musicais de Wisnik e
Murray e, por fim, os materiais para criao encontrados nas didasclias sonoras do texto O
Capataz de Salema de Joaquim Cardozo.
J o terceiro captulo, A Intimidade do Corpo Coletivo apresenta a preparao inicial
para a realizao da primeira etapa do laboratrio da Ambincia Sonora na Cena,
demonstrando os exerccios realizados cujo objetivo foi preparar o corpo-vocal dos atores
para a constituio de um corpo sonoro coletivo, explicitados por meio dos relatos dos atores
que viabilizaram ampliar a descrio dos exerccios realizados nesta etapa do processo de
criao.
No quarto captulo, Levantamento de Matria Sonora, delineia-se os exerccios
utilizados durante processo de criao propriamente dito, tendo as didasclias sonoras do
texto O Capataz de Salema como material de estmulo para a experimentao. O processo de
criao da Ambincia Sonora na Cena partiu do princpio de que a sonoridade tem base
essencialmente orgnica e nasce de estados corporais dos atores em relao com o ambiente.
Foram realizadas as seguintes fases para o levantamento de material criativo relatados no
quarto captulo: matrizes de identificao- primeira proposta de criao, onde foram
associados aos desenhos dos atores fragmentos do texto como sugesto de experimentao;
um corpo s - relata uma proposta de criao do coro que representava o mar e a sua
interferncia na construo da fala da personagem Sinh Ricarda; instalao de atmosfera
18
sonora para o processo de criao dos atores- demonstra o modo como a msica foi utilizada
no laboratrio e a noo de musicalidade como elemento a ser explorado no desenvolvimento
da potica da sonoridade cnica; o contato com o texto- exemplos dos exerccios selecionados
para explorao do texto como material de investigao cnica; a construo de estados
corporais- reflexes de vivncias propostas com o objetivo de instalar condies adequadas
para uma manifestao viva do corpo-vocal em cena; das personagens que sou- o fluxo de
imagens- revela a percepo dos atores em relao aos momentos mais significantes
registrados por eles durante o laboratrio, esboando o roteiro de cada ator, o caminho para
colagem das aes fsicas corporais-vocais vivenciadas no laboratrio.
Esta dissertao demonstra algumas possibilidades de construo de uma linguagem
cnica em que a sonoridade a linha condutora deste laboratrio prtico e demonstra
possibilidades de investigao, de integrao de movimento e ao corpo-voz em um processo
de criao, descrito e refletido na presente pesquisa.
19
2 O AMBIENTE TERICO
Foi a leitura de escritos do ator, poeta, roteirista e encenador francs Antonin Artaud
(1896-1948) que, primeiramente, inspirou e motivou esta pesquisa de mestrado, influenciando
no levantamento de idias e formulao do objeto da pesquisa. As suas reflexes e anseios por
um teatro vivo serviram como um valioso estmulo para se experimentar, nesta pesquisa, a
fora sonora na cena produzida pelo ator, possibilitando inclusive a montagem de um
laboratrio prtico, onde essa vocalidade ganhasse relevncia. Com esta perspectiva, foram
buscados materiais poticos que servissem de estmulo para a experimentao prtica, quando
foi encontrado o texto O Capataz de Salema do poeta e dramaturgo Joaquim Cardozo, no
qual foi observado que suas didasclias possuam sugestes sonoras que contribuiriam para o
laboratrio da Ambincia Sonora da Cena. Ao longo do processo de criao, outros
encenadores do teatro contemporneo do sculo XX, como Grotowski, Peter Brook e
Meyerhold, assim como autores da rea de msica tais como Jos Miguel Wisnik e Murray
Schafer e o antroplogo Paul Zumthor, serviram para a reflexo terica desta pesquisa.
2.1 ARTAUD E A PALAVRA ENCANTADA
[...] modulaes infinitamente variadas da voz, nessa chuva sonora, como
uma imensa floresta que transpira e resfolega, e no entrelaado tambm
sonoro dos movimentos (ARTAUD, 1999, p. 60).
Para entender o elemento sonoro no contexto cnico do Teatro da Crueldade pensado
por Artaud, preciso destacar os pontos relevantes sobre a linguagem teatral buscada neste
teatro. Artaud prope uma transformao da linguagem e da funo do seu teatro em
contraponto ao teatro psicolgico vigente na Europa Ocidental, critica o teatro centrado na
representao do texto literrio e evidencia a importncia de outros elementos da encenao
para a semiologia do espetculo: o ator com seu corpo e sua voz, o figurino, o espao, os
efeitos da iluminao, as sonoridades da msica e da palavra. Esta, por sua vez, no se limita
ao significado, ela deve encarnar-se no corpo atravs do seu significante. No teatro da
crueldade a palavra se instala enquanto sensao sonora.
20
Segundo Artaud, a tradio ocidental, no intuito de colocar o teatro submetido
representao do texto, teria se distanciado do sentido da cena, colocando-a unicamente a
servio do texto como se este fosse um deus. nesse sentido que pensa Jacques Derrida
(1971) referindo-se ao Teatro da Crueldade de Antonin Artaud, tomando este enquanto ato e
estrutura que cria um espao no-teolgico, onde o texto perde a sua prioridade. Artaud
solicita uma linguagem teatral que se distancie de imitaes e do teatro centrado na palavra,
ditada pelo autor do texto literrio:
O palco teolgico enquanto a sua estrutura comportar, segundo toda a
tradio, os seguintes elementos: um autor-criador que, ausente e distante,
armado de um texto, vigia, rene e comanda o tempo ou o sentido da
representao, deixando esta represent-lo no que se chama o contedo dos
seus pensamentos, das suas intenes, das suas idias. Representar por
representantes, diretores ou atores, intrpretes subjugados que representam
personagens que, em primeiro lugar pelo que dizem, representam mais ou
menos diretamente o pensamento do criador. Escravos interpretando,
executando fielmente os desgnios providenciais do senhor. Que alis e
a regra irnica da estrutura representativa que organiza todas estas
relaes nada cria, apenas se d a iluso da criao, pois unicamente
transcreve e d a ler um texto cuja natureza necessariamente
representativa, mantendo com o que se chama o real[...], uma relao
imitativa e reprodutiva (DERRIDA, 1971, p.154, grifo do autor).
Artaud reclama das limitaes impostas pela palavra e advoga uma linguagem teatral
que represente o prprio teatro e no o texto, atravs dos elementos que ocupam a cena:
msica, dana, artes plsticas, pantomima, mmica, gesticulao, entonaes, arquitetura,
iluminao e cenrio. Os elementos da cena, uma vez organizados entre si, se deslocam do
seu sentido imediato, transformando-se em metforas, em criao de imagens e se dirigem,
antes de trazer qualquer referncia intelectual, aos sentidos. por meio da linguagem fsica e
concreta dos elementos que ocupam o espao do palco que a cena se constitui, o sentido se faz
na cena: Digo que a cena um lugar fsico e concreto que pede para ser preenchido e que se
faa com que ela fale sua linguagem concreta (ARTAUD, 1999, p. 36). Artaud exige o uso
da prpria concretude que a cena possui, quando pensa na linguagem teatral, permeada pelo
espao, gestos, movimentos, gritos, sonoridade. O Teatro da crueldade resgata a linguagem
despertada pelas sensaes primeiras, como nas nossas percepes iniciais da vida. Ao pensar
nessa linguagem do teatro que tem suas prprias leis e seus meios de escrita baseadas na
percepo sensorial, Artaud toca na base de toda forma de aquisio de linguagem, em que o
mundo nos toca pela realidade das formas, cores, gestos, gostos e sons, e pertence a presena
dos sentidos do corpo.
21
Aspecto fsico, ativo, exterior, que se traduz por gestos, sonoridades,
imagens, harmonias preciosas. Este lado fsico endereado diretamente
sensibilidade do espectador, isto , a seus nervos (ARTAUD, 2004, p.82).
Artaud grita, se angustia por sentir que no possui o seu prprio pensamento, por
perceber que lhe faltam palavras para dizer o que sente, que no seu corpo atravessam muitos
pensamentos indizveis. por essa falta de palavras codificadas na sua lngua, que reflitam os
seus pensamentos e sentimentos que Artaud pe em dvida o poder da linguagem verbal. Ele
vive essa inquietude da busca de uma maneira de dizer: A Artaud faltam palavras. Ele
apenas pensa o indizvel e balbucia, geme e grita uma ordenao de palavras
incompreensveis (GUEDES, 2000, p.60).
Artaud no quer entender as palavras de uma maneira descritiva, como tradutoras de
idias, fatos e coisas; ele quer sentir a palavra. Sentir as palavras em seu estado concreto,
fsico, como ressonncia do corpo, das sensaes e emoes que o atravessam. nesse ponto
que essa pesquisa se encontra com o pensamento de Artaud, atravs da valorizao do som
vocal por ele mesmo gerando possibilidades infinitas de significar, com sua textura, sua
respirao, seu ritmo, uma musicalidade, um corpo que fala o que as palavras sozinhas,
codificadas em uma lngua no conseguem dizer.
O teatro amarrado ao texto, limitado a descrev-lo, seria como engessar a arte teatral
aos cdigos da lngua, colocando todos os instrumentos da linguagem teatral submetidos
palavra do autor. Artaud no nega o texto dramtico do seu teatro, mas sim o lugar deste
enquanto condutor da encenao. No Teatro da Crueldade, o texto tambm faz parte da
encenao, no mais como um deus, mas sim em constante cruzamento com os outros
elementos da cena. O texto comea a servir de instrumento para a introspeco, deslocando
imagens internas, sensaes fsicas, jorros de imaginao para um processo vivo que se d nas
pessoas envolvidas em um processo criativo. Sendo assim, no se deve pensar que Artaud
queria eliminar as palavras do seu teatro, mas sim perceber a sua reivindicao por uma outra
maneira de relao com as mesmas. Elas esto vinculadas s relaes estabelecidas na cena,
no mais conduzindo a representao teatral e sim adquirindo vida quando esto em cena.
Sendo assim, a concretude da palavra devolvida ou encontra o seu sentido
encantatrio quando nasce na cena, tanto daquele que ouve, quanto daquele que emite a
22
palavra. deixar a prpria sonoridade da palavra falar por ela, abrindo espaos alm das
expectativas semnticas embutidas nas mesmas. dar voz poesia, imaginao e encontrar
a singularidade de cada palavra. trazer para a palavra a fora que ela possui de ao, de
grito, de sussurro secreto para um nico ouvinte.
No apenas no teatro de Artaud, mas tambm na comunicao do ser humano, o
sentido encantatrio das palavras est presente. Os estudos das linguagens primitivas
demonstram seus sons mgicos, de sentidos desconhecidos, com grande poder de
encantamento. Schafer (1991, p.235), em Quando as palavras cantam, tece comentrio
baseado na lingstica sobre as mudanas sonoras da lngua ao longo da histria da
civilizao, supondo que as lnguas vm perdendo as suas expresses sob a forma da fala
inarticulada, diminuindo a quantidade de interjeies, gemidos, sussurros, sopros, rugidos e
inflexes da voz de uma maneira geral:
Agora, uma conseqncia do avano da civilizao que a paixo, ou, ao
menos, a expresso da paixo seja moderada, e, desse modo, podemos
concluir que a fala dos homens no civilizados e primitivos era mais
apaixonadamente agitada que a nossa, mais parecida com o canto
(SCHAFER, 1991, p.235).
Assim, surge nesta pesquisa a seguinte indagao: como fazer com que as palavras
resgatem o seu sentido por meio da valorizao da sonoridade, do encantamento tambm
expresso pelos sons no articulados? Esta pesquisa tem o objetivo de fazer com que a
linguagem verbal seja valorizada por meio dos sons que so emitidos como algo que toca nos
sentidos do corpo, tornando a fala uma cano que faz uma festa ou derrama lgrimas pelas
sensaes provocadas por sua textura sonora:
medida que o som ganha vida, o sentido definha e morre; o eterno
princpio Yin e Yang. Se voc anestesiar uma palavra, por exemplo, o som
de seu prprio nome, repetindo-o muitas e muitas vezes at que seu sentido
adormea, chegar ao objeto sonoro, um pingente musical que vive em si e
por si mesmo, completamente independente da personalidade que ele uma
vez designou (SCHAFER, 1991, p. 240).
Nesta pesquisa buscou-se extrair dos sons que emanam do corpo todos os seus
desdobramentos, burilar as diversas maneiras que as palavras tm de preencher o espao da
cena, de criar curvas no espao atravs de suas entonaes. Transformar as palavra em
ambincia trazer a possibilidade das palavras serem sentidas como msica, segundo o modo
23
como so pronunciadas, independente do sentido semntico estabelecido pela lngua, fazendo
com que a sonoridade da cena traga impresses tteis-sinestsicas.
A sonoridade tocando de modo concreto, como gestos precisos que causam comoes
fsicas. o deslocamento de ar que a sua reverberao provoca. uma linguagem sonora
concreta destinada aos sentidos. Isto pode ser explorado principalmente, segundo esta
pesquisa, a partir do corpo-vocal do ator, com suas cavidades de ressonncias, seus diferentes
ajustes posturais e dos rgos da fala gerando sonoridades no ambiente cnico.
2.2 O ATOR: POR UMA LIBERDADE SONORA NA CENA
A sonoridade no teatro sempre nasceu da cena, como pode ser inferido por meio dos
estudos do historiador cultural francs Roger Chartier, quando relata que nos sculos XVI e XVII
a identidade coletiva das obras [eram] bens pertencentes companhia de teatro e no ao autor
(CHARTIER, 2002, p.12). No teatro de Molire, por exemplo, o texto falado nascia das
experimentaes de seus atores e no o contrrio. A percepo e a representao do escritor como
autor, surgiu lentamente, principalmente em resposta ao mercado livreiro, que explorou o sucesso
de alguns diretores-dramaturgos, muitas vezes, corrompendo os escritos dos mesmos. Isso
provocou uma sobrevalorizao deste artista como autor, tornando mais importante o texto que a
cena, hierarquizando o fazer teatral, sendo portanto, mais importante o texto que a fala [ esta fala
dos atores em cena que interessa para esta pesquisa].
A autonomia do teatro em relao ao texto literrio s vai ser questionada fortemente
no incio do sculo XX, sendo Meyerhold (1874-1940) um dos pioneiros a querer resgatar a
cena, a pens-la como espetacularidade e artifcio, por meio do que ela tem de luz, de corpo,
de gesto, de musicalidade. Nesse contexto, em que o teatro questiona a sua linguagem, a
palavra vem impulsionada pela respirao do presente, oferecendo e recebendo um sentido
vivo, pulsante na cena, onde se questiona tambm o papel do espectador, parte integrante da
cerimnia que lhe oferecida e criador tambm de significados.
Trata-se de esmiuar cada palavra e descobrir aquele sentido que no imediato,
encontrar outros sentidos, que nascem pelo sentido tambm sinestsico que cada palavra
24
possui e tambm, pelas justaposies sonoras nelas contidas. Os gregos j discutiam sobre a
origem do significado da palavra relacionados s caractersticas do movimento de cada
fonema:
Diz Scrates: [...]Por outro lado, tendo observado que a lngua escorrega
particularmente na pronncia do l, formou por imitao as palavras que
designam o que liso(leion), escorregadio(olsthanos)[...].Da observao de
que o n detm o som dentro da boca, criou as expresses ndon(dentro)
e ents(interior), para representar os fatos por meio das
letras(GAYOTTO,1997, p.49, grifo do autor).
A citao acima mencionada ressalta as caractersticas dos traos emissivos dos
fonemas, marcando os significados das palavras. No seguindo a concepo das idias
eternas do platonismo, mas se apropriando do que os gregos salientaram sobre o que a palavra
possui de ao, pode-se perceber nesta pesquisa a importncia do como a palavra emitida
para concretizar um determinado sentido. Este carregado pelo conjunto de movimentos
fsicos realizados, para sonorizar os fonemas de uma determinada palavra, pelas estruturas do
trato vocal daquele que fala.
A presente pesquisa busca valorizar e experimentar o sentido(s) contextual da palavra,
as mltiplas possibilidades de significado da palavra que nasce no ambiente da cena. o ator
trabalhando com o significado relacionado ao significante da palavra no momento do jogo
criativo, ou seja, aos significados que nascem da musicalidade dos fonemas, do ritmo, da
curva meldica, da percepo da respirao de quem fala, do timbre vocal, da vocalidade da
palavra experimentada. Estes parmetros vocais se configuram tambm enquanto
comunicao e se relacionam com o que Zumthor chama de performance vocal.
Os estudos da performance vocal em diferentes contextos referidos por Paul Zumthor
permitem a seguinte reflexo:
[...] enquanto vocal, a performance pe em destaque tudo o que, da
linguagem, no serve diretamente informao- esses 80%, segundo
alguns, dos elementos da mensagem, destinados a definir e a redefinir a
situao de comunicao. Decorre da uma tendncia de a voz transpor os
limites da linguagem, para se espalhar no inarticulado (ZUMTHOR, 2001,
p.166).
As caractersticas vocais da performance, ou seja o significado particular dado a um
enunciado, atravs dos meios corporais e fsicos da comunicao valorizados por Zumthor,
25
implicam em uma libertao das palavras s imposies lingsticas, ressaltando o sentido
vocal que nasce da relao concreta interpessoal. a voz e o gesto que propiciam o impacto
corporal no espectador, so eles que vo persuadi-lo. Os elementos variveis da linguagem
oral correspondem a 80% do que define o que percebido e sentido em uma fala, e neste
sentido, so as qualidades vocais conectadas uma palavra que as permitem pertencer a um
campo infinito de possibilidades semnticas, possibilitadas pela performance vocal.
O significado oriundo da performance vocal foi tambm investigado por Paul
Zumthor, em viagem a frica, quando travou contato com cantores e contadores africanos.
Zunthor, na posio de ouvinte cuja lngua desconhecia, no podia compreender o que estava
sendo dito, somente podia perceber o corpo dos artistas desempenhando funes e certos
dados sociolgicos expressos nas relaes estabelecidas. Nesta experincia, pode inferir que
os elementos vocais e corporais desempenhavam um papel considervel durante a
comunicao, percebendo assim, que a significao acontecia por outra via que no era a da
decodificao da palavra (FORTUNA, 2000).
Pertencendo a uma rea do conhecimento diferente da de Paul Zunthor, porm com
pontos de encontros nas suas pesquisas, o diretor teatral ingls Peter Brook teve interesse em
pesquisar por onde se dava o encontro do espectador com o teatro. Com este objetivo, viajou
com um grupo de atores de diferentes nacionalidades para vrios lugares do mundo, que no
tinham contato com o teatro, apresentando seus espetculos em qualquer lugar onde
existissem pessoas. Mesmo fazendo parte de culturas diferentes, Brook percebeu que, aos
poucos, a relao, o encontro comeava a acontecer independente dos atores falarem, ou
cantarem na mesma lngua das pessoas daquele lugar:
Certa vez passamos a tarde inteira sentados numa cabana em Agades,
cantando. Ns e o grupo africano cantvamos alternadamente quando, de
repente, percebemos que havamos atingido exatamente a mesma linguagem
sonora. Ns entendamos a deles e eles entendiam a nossa. Foi muito
empolgante porque, a partir de tantas canes diferentes, chegamos de
sbito quela rea comum (BROOK, 1994, p.168).
Pode-se perceber que a textura sonora de uma linguagem um cdigo que atua pela
via das emoes, das paixes contextualizadas no momento da sua criao. Um exemplo seria
o grego antigo, no qual as intensas paixes vivenciadas pelos gregos culminou em lngua
excepcional, onde a combinao de suas vogais produzia sons de intensas vibraes que por si
26
s, extrapolavam de paixes. Essa valorizao do prprio som fontico das palavras de uma
lngua menos intenso, segundo Brook, no ingls moderno, por exemplo (BROOK, 1994).
No incio da dcada de 70, Brook e sua equipe de trabalho se propuseram a investigar,
sem ter como referencial as palavras, signos e referncias culturais compartilhadas,
descartando uma forma de entendimento que exigisse um conhecimento de regras de uma
lngua entre o ator e o espectador, podendo assim, um outro tipo de conhecimento tomar
lugar. O diretor Peter Brook estava a procura da oralidade enquanto riqueza sonora na cena.
Para isso, produziu o espetculo Orghast, com o propsito de descobrir no ator os
constituintes da expresso sonora, cujo sentido verbal do discurso fosse desestruturado, no
levando em conta sistemas convencionais verbais. Da investigao realizada pela sua equipe
de artistas, contando tambm com a colaborao do poeta ingls Ted Hugues, partiram do
estudo das qualidades sonoras do grego antigo e da lngua persa Avesta, para a criao da
lngua Orghast a ser a linguagem verbal desse espetculo. Nessa pesquisa Brook sugere a
existncia de uma comunicao sensorial entre os espectadores e os atores, na qual os
sentidos constitudos seguem uma lgica do no real, por meio da energia sonora oriunda da
performance vocal do ator.
Os estudos de Brook, Zumthor e Artaud permitiram adentrar na temtica da
multiplicidade de sentidos possveis da palavra enquanto sonoridade. J nas investigaes do
diretor polons Jerzy Grotowski, foram encontrados princpios que fundamentaram as idias
referentes preparao e ao processo criativo do ator para a cena no laboratrio da pesquisa.
O ator do Teatro Pobre de Grotowski parte da investigao do seu corpo e tem
conscincia das suas possibilidades expressivas. O ator o ncleo da experincia teatral do
seu Teatro Laboratrio, a cenografia, o vesturio, a msica gravada e a iluminao so
reduzidos ao mnimo, priorizando assim os recursos cnicos solicitados por meio do processo
de criao e destacando, sobretudo, a atuao.
O ator do Teatro Laboratrio de Grotowski um ser que se desnuda diante de si
mesmo e diante dos outros, para olhar-se sinceramente e eliminar os obstculos que limitam a
sua expresso. Para isso, necessrio excluir resistncias corporais e psquicas, para que ele
perceba e d ao aos seus impulsos mais ntimos. Grotowski no oferece uma coleo de
27
tcnicas para o trabalho com o ator. Ele fala do princpio de uma via negativa que
disponibiliza o ator para o estado de desbloqueio corporal e psquico para a criao:
No educamos um ator, em nosso teatro, ensinando-lhe alguma coisa:
tentamos eliminar a resistncia de seu organismo a este processo psquico.
O resultado a eliminao do lapso de tempo entre impulso interior e
reao exterior, de modo que o impulso se torna j uma reao exterior
(GROTOWSKI, 1987, p.14).
A anlise do princpio da via negativa proposto por Grotowski faz com que seja
repensada a noo de tcnica, entendida no como um conjunto de regras a serem seguidas
por todos, mas valorizando a observao de cada ator, para poder propor determinada
dinmica facilitadora, no engessando a pessoa em padres ditos corretos, sendo levado em
conta a singularidade e a necessidade tcnica de cada um.
As propostas estticas desenvolvidas pelo teatro contemporneo, necessitam de outro
tipo de trabalho tcnico, visto que as noes oriundas da oratria no respondem mais
noes, tais como: ator compositor, criador, que cria seu texto vocal-corporal aps ter
investigado durante as improvisaes, na qual representar o texto do autor no mais o seu
objetivo. Nesse contexto, faz-se necessrio desenvolver tcnicas que dem suporte para uma
maior conscincia vocal-corporal do ator e a ampliao das possibilidades de movimento
vocal-corporal, associadas tambm a uma situao ou funo, uma vez que precisamos
conectar a tcnica aos momentos dinmicos de atuao na cena.
Visto de uma outra maneira tambm, a tcnica deve vislumbrar bases que possibilitem
ao ator descobrir novos ajustes vocais-corporais. Tcnica esta que possibilite ao ator estar
aberto para o desconhecido, superando seus limites, se autoconhecendo, percebendo os
caminhos que so favorveis para ele ter uma maior conscincia do seu corpo e
disponibilizao do mesmo para o processo criativo e para a cena. Todo o nosso corpo um
sistema de caixas de ressonncia-isto , vibradores, e todos estes exerccios so apenas
treinamentos para ampliar as possibilidades da voz (GROTOWSKI, 1987, p.189).
Um outro ponto estudado nessa pesquisa diz respeito construo da sonoridade pelo
ator a partir da investigao do movimento do seu corpo integrado a sons surgidos no mesmo.
O movimento a matriz de investigao da cena, a sonoridade da cena gerada pelo desenho
do corpo bem delimitada no espao. Nesta pesquisa, a atuao do ator no se organiza
28
tomando como base o estudo do personagem do texto literrio, mas sim do movimento
preenchido por aes fsicas ou gestos que nascem do corpo-vocal. As aes oriundas do ator
trazem a dramaticidade da cena, pelas variaes de silncios, relao com o espao, com o
outro, variao rtmica, pelas entonaes, pelos sons e gestos que permitem dar ao seu corpo
perspectivas visuais e auditivas. As palavras so bordadas sobre a tela dos movimentos
(MEYERHOLD apud PICON-VALLIN, 2006, p.44).
Durante a improvisao de movimentos corporais-vocais, passam pelo corpo do ator
imagens, associaes emergem, no s da mente, mas de todo o corpo, trazendo lembranas,
ou situaes ficcionais exatas em tempo real. As associaes das informaes que passam
pelo corpo, encarnam-se no corpo por meio das impresses sensoriais [ttil-sinestsicas,
visuais, auditivas, gustatrias] que o corpo no esqueceu. nesse momento que o movimento
se torna uma ao fsica ou um gesto preenchido pelas imagens do ator (GROTOWSKI, 1987;
MEYERHOLD apud PICON-VALLIN, 2006).
esse o caminho seguido nessa pesquisa: o ator criando suas aes fsicas e gestos
baseados em imagens originadas de estados corporais1 surgidos durante o laboratrio. A
execuo, sensao e percepo do movimento, cria no ator um fluxo de associaes,
permitindo uma imaginao presente, aguando suas memrias e fantasias, gerando
combinaes variadas de movimentos corporais-vocais imagens a elas conectadas. o ator
pensando por imagens ao apresentar os seus gestos e aes-fsicas corporais-vocais.
do trabalho do ator que se cria uma nova realidade a partir dos elementos
descobertos no exerccio da cena. do prprio corpo-vocal que nasce o texto e a cena. Para
tanto, necessrio fornecer meios para o ator construir seu texto corporal-vocal, tornando-o
responsvel pela sua criao, autor da sua potica cnica.
1
Es s e c o nc e i t o f o i e x t r a do do s e s t u dos d a n e u r o b i o l og i a d e An t o n i o
Da m s i o . Um d o s e s t u do s d e p e s q u i s a d e s t e n e u r o l ogi s t a r e l a c i o n a - s e a o p r o c e s s o
c o ns t a n t e d e ma p e a me n t o do s e s t a d o s do c or p o, c o mo s e n do, a gr up a me n t o d e
c o r r e s p ond n c i a s e nt r e t o d a e q u a l q u e r p a r t e d o c or po e a s r e g i e s
s oma t os s e ns i t i va s do c r e br o, e m r e l a o a uma da da c i r c uns t nc i a ( DAMSI O,
2 004 ) .
29
2.3 PARA UMA AMBINCIA SONORA NA CENA
Neste processo de criao a ambincia sonora considerada a matriz geradora de
sentido na cena. Como uma msica, a partir da fora das combinaes perceptivas do som
quanto sua intensidade, altura, timbre, melodia, ritmo e harmonia que a Ambincia Sonora
se configura em linguagem da cena teatral. a voz do ator articulada aos sons dos objetos
sonoros produzidos por ele, tornando-se linguagem e possibilidade de comunicao pelo que
possuem de sinestesia. Nesse sentido, foi trazido para o laboratrio da Ambincia Sonora o
que a msica tem de materialidade perceptvel; apesar de no ser visvel e nem ttil, a msica
chega no corpo de uma outra maneira, ela visvel sendo invisvel e ttil quando percebida
pelos sentidos que se misturam. O som na sua qualidade vibratria de ondas sonoras ttil-
sinestsico, ou seja, as ondas sonoras tocam os sentidos provocando movimentos no corpo.
Os sons, vibrantes e diferentes entre si, nas escalas sonoras, no seu ir e vir, remetem ao
tempo seqencial e contnuo, mas tambm a um tempo virtual, sem presenas, espiral,
circular, um tempo acrnico em oposio ao tempo do consciente e intemporalidade do
inconsciente. Interferindo nessas dimenses, a msica indica, com uma fora prpria, para um
estado no-verbalizvel. Ultrapassa as barreiras defensivas que a conscincia e a linguagem
verbal tm de forma e de imediatismo e atinge despertados pela fuso dos sentidos.
A msica toca os sentidos pela reverberao sonora, invade com preciso. E, alm das
propriedades fsicas referidas ao som, h um sentido gerado pela msica que feito por meio
das vibraes sonoras perceptveis em um determinado contexto histrico-cultural,
impulsionando sensaes e imagens no codificveis como os signos verbais, porm
traduzvel com nitidez para a percepo corporal, envolvendo o corpo com reaes
apaixonadas ou aterrorizantes. esta noo de musicalidade que mobiliza e cria a Ambincia
Sonora e o texto da cena.
Pode-se dizer que a Ambincia Sonora estimula o corpo pela sensibilizao sonora-
sinestsica que ela provoca, gerando determinadas dinmicas de movimento no corpo do ator,
em decorrncia do fluxo de imagens-em-aes trazidas sua mente no momento em que ele,
percebe e sente a qualidade de vibrao sonora de uma determinada msica.
30
Assim, buscamos nesta pesquisa efetivar um processo de criao no qual a sonoridade
da cena fosse ressaltada, uma investigao com base na ao sonora exclusivamente dos
atores, preenchendo a cena e tambm expandindo suas noes sobre as funes sonoras
desempenhadas por eles, servindo de estmulo para investigar a execuo da sonoplastia da
cena vinculada s suas aes corporais-vocais. Ou seja, utilizando recursos vocais somados a
objetos de cena que geram som, a orquestrao sonora da cena foi constituda com diferentes
timbres, ritmos, intenes, melodias e tonalidades. A sonoridade tocou os corpos,
desencadeando sensaes, associaes de imagens e reaes, despertando metforas sonoras a
serem encarnadas pelos atores, permitindo a construo da ambincia sonora por meio do
jogo de vozes e sons compostos pelos atores durante a vivncia na cena.
Nesse contexto, o sentido da palavra como idia quebrado, dando espao para outros
sentidos, a voz por si mesma encanta, traz sensaes e imagens unicamente pela composio
sonora de tom, intensidade, timbre, sua musicalidade e relao com o ambiente. a
investigao de outros significantes da palavra, estendendo as possibilidades de construo de
um novo uso da mesma, submetida ao seu prprio ritmo:
Ora, mudar a destinao da palavra no teatro servir-se dela num sentido
concreto e espacial, na medida em que ela se combina com tudo o que o
teatro contm de espacial e de significao no domnio concreto;
manipul-la como um objeto slido e que abala as coisas, primeiro no ar e
depois num domnio infinitamente mais misterioso e secreto (ARTAUD,
1999, p.80).
A juno das vozes dos atores que compe A Ambincia Sonora na Cena; vozes de
diferentes formaes tcnicas, culturais, psquicas e idades, gerando gestos sonoros variados
que aos poucos vo se agregando, construindo relaes, dando existncia a aes harmnicas
ou conflitantes no ambiente da cena. O grupo de atores, cada um como um elemento sonoro
integrado ao todo orgnico, faz a cena vibrar em lugares impulsionados pela imaginao de
cada ator, por meio do seu corpo em movimento.
A sonoridade da cena experimentada nesta pesquisa foi criada por vozes com
caractersticas fsicas e psicodinmicas diferentes, uma mistura de pessoas com inmeras
qualidades vocais distintas e que juntas construram a sonoridade da cena. Como numa obra
musical, cada voz manteve a sua textura, possuindo sua identidade sonora no amlgama da
nova voz formada. Foi do corpo dos atores que nasceu a sonoridade da cena e, por sua vez, foi
31
da cena que nasceu a sonoridade. Do sonoro tambm surgiu o sentido visual, uma vez que os
sons vocalizados pelos atores suscitaram imagens. A sonoridade foi ao mesmo tempo, som e
cenrio. Na medida em que se espalhavam palavras, murmrios, canes, rudos, coros,
silncios, surgiam imagens, um outro lugar, construindo uma ambincia sonora, onde os
atores criavam enquanto percebiam o ambiente.
A Ambincia Sonora formada pelas variaes de sensaes e imagens que envolvem
uma pessoa e nela podem influir durante a percepo fsica do som. a atmosfera preparada
para criar um meio fsico que toca sensorialmente a pessoa. A cena investigada nesta pesquisa
constituda pela mistura udio-visual, proporcionada pela fuso do gesto corporal-vocal
expressado pelo corpo coletivo formado pelos atores, fazendo transbordar imagens,
sensaes, msicas, rudo, palavras encantadas no ambiente da cena.
2.4 SALEMA DE UM TEMPO QUALQUER2
Na busca de material que servisse como ponto de apoio para o laboratrio
experimental desta pesquisa, realizada unicamente por atores, percebeu-se que o texto O
Capataz de Salema, do autor pernambucano Joaquim Cardozo, poderia ser o texto guia para
o mergulho no processo de criao. J na primeira leitura, existiu o interesse pelo nvel
potico e sugestes de imagens sonoras presentes nas suas didasclias3 e pelo fato tambm do
texto ser escrito em verso, trazendo um valioso material de estudo prtico do som vocal, do
ritmo e da musicalidade da cena. Visto isso, ficou claro que as ferramentas apresentadas no
texto de Cardozo traziam a palavra, principalmente nas suas didasclias, possibilidades
imaginativas que proporcionavam espaos vazios significantes para o ator criar a sonoridade do
texto a partir do que brotava das vivncias da cena. A Cano do Mar de Salema nasceu do texto
teatral de Joaquim Cardozo, texto de caracterstica mpar para esta pesquisa de carter prtico.
2
T t u l o r e s g a t a do d e u m d o s r e gi s t r o s p r o c e s s u a i s do a t o r J e f f e r s o n Ol i v e i r a
3
Ou v e m- s e a s v o z e s d o ma r a g i t a d o , a va n a ndo s obr e a pr a i a e , de poi s ,
r e c ua ndo, s e a r r a s t a ndo, r a s pa nd o a a r e i a d ur a . ( CARDOZO, 20 01 , p . 27 )
32
2.4.1 Sobre Joaquim Cardozo
Parece de frgil estrutura humana em sua magreza quase de marfim: uma
fortaleza, dura roca, voz de carcia mas tambm de acusao,
reivindicatria. Sua poesia nasce do povo para sacudi-lo, no brisa para
adormec-lo, vento em redemoinho de revoltas. Sua doce poesia, sua
ardente poesia (JORGE AMADO apud LEITE, 200, p. 26).
O poeta-engenheiro Joaquim Cardozo nasceu no Zumbi, um arrabalde do Recife em
26 de agosto 1897 e faleceu em Olinda em 4 de novembro de 1978. Em 1947, foi publicado
seu primeiro livro, Poemas, por iniciativa de Joo Cabral de Melo Neto. Trabalhou tambm
como tradutor, crtico de arte, professor, funcionrio pblico, matemtico e calculista do
arquiteto Oscar Niemeyer, colaborando com a construo de Braslia, alm de outras obras de
grande porte no pas.
Para o teatro escreveu obras como: Coronel de Macambira 1963, Coletnea de
Teatro Moderno [O Capataz de Salema, Antnio Conselheiro e Marechal, Boi de Carros],
1975, De Uma Noite de Festa, 1971, Os Anjos e Os Demnios de Deus, 1973.
Segundo Joo Denys4, estudioso da dramaturgia de Joaquim Cardozo e autor de Um
teatro da morte: transfigurao potica do bumba-meu-boi e desvelamento scio-
cultural na dramaturgia de Joaquim Cardozo, o teatro cardoziano caracterizado como
uma escritura aberta, de traos picos modernos, estruturado num teatro da morte que se
insere de forma singular nas discusses sobre arte e cultura popular, regionalismo e teatro
popular (LEITE, 2003, p.109).
Longe de uma viso folclrica, o Nordeste de Cardozo se mostra por dentro, revela o
ser humano percorrendo a histria, o contexto social e poltico no qual est inserido. Sem ser
panfletrio, Joaquim Cardozo fala das diferenas sociais (masculino-feminino, comandante-
comandado, diferentes nveis de pobreza), da misria e do povo que trabalha duro, que luta
pela sobrevivncia, mas ao mesmo tempo permanece vivo, trazendo a sua resistncia, os seus
4
J o o De n ys d e Ar a j o Le i t e , d r a ma t u r g o [ a u t o r d o t e x t o t e a t r a l De us
Danado e n c e na do pe l a Ci a . Ra ps di a de Te a t r o] , a t or , c e ngr a f o, f i gur i ni s t a ,
ma q u i a do r , p r ogr a ma d or v i s u a l , b on e q u e i r o, e n c e n a d or , pr o f e s s o r d e t e a t r o d a
UFPE.
33
momentos de lamento e de alegria refletidos nas festas populares e na vida que existe na
regio.
Podemos dizer tambm que o texto de Joaquim Cardozo parte do local e se expande
para alm deste, uma vez que este escritor [talvez por ser engenheiro e calculista] retorce,
reinventa, estiliza o nosso linguajar, os personagens, a paisagem local e a cultura popular do
Nordeste.
Na dissertao de Mestrado Antnio Conselheiro: Potica Intertextual na
Dramaturgia de Joaquim Cardozo, rico de Oliveira, ao analisar o texto dramtico
Antnio Conselheiro, de Joaquim Cardozo, enfatiza a terra natal de Cardozo, a ambincia
que compe o Nordeste, como o ponto de partida da criao potica desse poeta e dramaturgo,
que tem como objetivo primordial falar sobre o habitante desse lugar, com suas misrias,
religiosidades e crenas transfiguradas. O texto de Cardozo transcende a imagem
convencional do Nordeste e do homem Nordestino e faz com que o leitor viaje para outros
lugares, para valores que ressoam no ser humano de qualquer lugar:
A obra de Cardozo reverbera do homem nordestino humanidade, do cho
do serto ao cosmo, da luta social aos conflitos existenciais, na incessante
busca de um mundo mais justo e de pessoas mais dignas e solidrias
(OLIVEIRA, 2002, p.97).
Cardozo coloca o Nordeste em seus textos. O faz por meio do lxico utilizado por sua
gente e das imagens deste local, porm com uma textura que no se limita forma
estereotipada de uma fala e paisagens rurais tpicas do teatro dito popular. Seu texto,
abundante em imagens e rimas, aberto, ou seja, leva o leitor para outros espaos e tempos
que extrapolam a fronteira do Nordeste, se expandem para novas configuraes engendradas a
partir do contato de cada pessoa com o seu texto.
O Nordeste transfigurado por Cardozo nasce deste poeta de formao hbrida, que
revela sua fascinao pela cultura local, mas tambm verdadeira admirao pelo Oriente.
Segundo Joo Denys, o teatro de Joaquim Cardozo ser amalgamado por um turbilho de
elementos dos mais diversos: do Bumba-meu-boi s influncias orientais; do teatro profano
medieval ao pico moderno (LEITE, 2002, p.31).
34
A observao de Denys confirmada pelo depoimento do prprio autor, que relata seu
fascnio pela arte oriental:
Atravs dos poetas hindus: Valmiki, Kalidasa, Harsa, Bhartrihari, Amaru,
etc. Ou dos chineses: Wang-wei, Du-Um, Du-Fu, Li-Tai-Po e sobretudo
Bai-Kiu-yi [...] ou dos japoneses Basho, Issa, Kikaku etc. ou ainda dos
prprios rabes: Al-Mutanabi, Inru, Ulquais, Abu Nuwas, Umar Banal
Farid, Zurat etc. [...] O que, porm, mais me seduziu na cultura oriental
foram as danas. Vi no cinema, a bailarina Lhanta Rao danar o Bharata-
Satyan. Ainda no cinema, vi a brahmine que ajudou Jean Renoir no filme
O Rio e a ela dana o Kathakali. E da China vi as danas da pera de
Pequim, em espetculo no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Vi a dana
dos Trs Encontros; vi, na Despedida da Favorita, a Dana das
Espadas e muitas outras (MORAES NETO, apud LEITE, 2003, p.30-31).
Diante da diversidade da sua vivncia e formao, suas peas so filhas da dana, da
msica e da poesia de diferentes lugares do mundo, deslocando-se de um regionalismo
estreito para a mistura do Ocidente com o Oriente. Contudo, o teatro de Cardozo brota do solo
do Nordeste como significante para colocar as questes do ser humano e da coletividade em
um mbito que est tanto no local como no universal, estando presente nas angstias de
qualquer ser humano do mundo: viver com alegria e tristeza, morrer de fome, ser oprimido e
opressor, relacionar-se com muito ou pouco amor, existir e resistir s condies da vida.
Ao analisar as poesias e os textos teatrais de Joaquim Cardozo, Joo Denys constata
que, alm da contundente crtica social, existe tambm em seus textos um outro eixo temtico
que liga toda a sua produo potica e dramtica, e tambm os registros pessoais do e sobre o
autor: as personagens histricas e fantsticas de Cardozo, seu bumba-meu-boi, grande parte
dos seus poemas, episdios de sua vida, as palavras, tudo gira em torno da morte(LEITE,
2003, p.17-18). Diante dessas constataes, Denys levanta a hiptese de que Cardozo constri
um teatro da morte, que podemos tambm perceber no texto guia desta pesquisa, O Capataz
de Salema. A morte declarada por Cardozo e que, tambm fez parte enquanto temtica do
processo de criao do laboratrio prtico desta pesquisa, a morte como transformao,
companheira inseparvel da vida.
A morte vista no como manifestao antagnica da vida, no com um sentido
destruidor, no como uma falta de vida, mas como parte constituinte da vida, uma se
alimentando da outra:
35
A morte o vazio, o espao aberto, que permite o passo para adiante. O
viver consiste em termos sido jogados para o morrer, mas esse morrer s se
cumpre no viver e pelo viver. Se o nascer envolve o morrer, tambm o
morrer contm o nascer (OTVIO PAZ apud LEITE, 2003, p. 74).
Segundo Joo Denys, a morte-renascimento uma concepo que est presente em
toda obra potica de Joaquim Cardozo, e desmembra-se nas concepes de morte-nascimento,
nascimento-morte, morte-fecundidade, morte-maternal. encontrado no sonho, na noite, na
mulher-me, na terra-me e nas guas dos teros que fazem nascer a vida. Podemos observar
no texto O Capataz de Salema, na fala de Luzia para Sinh Ricarda, a presena da morte-
renascimento, da noite, da morte-maternal, da terra-me:
Como terra que sou, como terra,
Sou eu mesmo quem te encerra;
Quem te cobre para o fim.
Morte-me. Morte-av de mim.
De mim, terra e mulher.[...]
Nem terra, nem mar sers
Nem do vento hs de ter vu.
Madrinha! Sers um farol;
Um farol em torno do qual
Jangadas vers passar
Voando. Voando para alm.
Para os pesqueiros do cu
(CARDOZO, 2001, p. 47).
A morte-renascimento desdobrada, nesse fragmento de texto, para a terra, para a
mulher Luzia que recolhe e pe fim no corpo morto da av e madrinha [duplamente me],
Sinh Ricarda, que por sua vez renasce de um novo modo, renasce como um farol alumiando
jangadas Voando para alm... Para os pesqueiros do cu. A morte-renascimento, em O
Capataz de Salema, uma imortalidade: o ser humano morre para se desdobrar em outras
facetas da vida.
2.4.2 Sobre o Capataz de Salema
Distanciando-se das manifestaes populares, mas tendo ainda representantes do povo
como personagens, Cardozo compe O Capataz de Salema.
Este texto, publicado em 1975 e construdo pelo autor de forma potica, pode ser lido
desta maneira: o capataz [homem que manda nos pescadores da vila de Salema] declara, em
36
uma ltima tentativa, o seu amor por Luzia, jovem solitria, filha de pescadores, que vive com
sua av e madrinha, Sinh Ricarda. Os rumores do mar, personagem potico compem a
dramaturgia, revelando as dores, amores, medos, desejos e sonhos das personagens: Sinh
Ricarda, por exemplo, tem vises dos seus seis filhos que morreram no mar. Apesar de todas
as promessas do capataz, ele segue o seu destino sem Luzia e o que resta ao final do texto
um corpo crepitando em chamas, como em um ritual fnebre indiano.
Segundo Joo Denys em O Capataz de Salema, Cardozo alcana o maior grau de
conciso dramatrgica. a pea de menor extenso de sua obra dramtica; com menor
nmero de personagens; em um nico ato e desenrolada num nico espao (o casebre de
Sinh Ricarda) (DENYS , 2003, p. 49, grifo do autor).
As personagens so marcadas pelas diferenas sociais: homem-mulher, oprimido-
opressor, comandante-comandado, envolvidas pelas paixes humanas e dominadas pelas
foras da natureza [a terra, a gua, o fogo e o vento].
O texto de Cardozo, talvez pelo fato de ter o mar presente no s como um
personagem, mas atravs de indcios que vo alm das referncias dos sons das guas do mar,
adentrando nos seus mistrios, rumo ao no do espao e do tempo das entranhas do mar, que
tudo oferece, mas tambm tudo devora, instiga uma pesquisa sonora mais aberta para
materializar esse personagem na cena. A palavra contida nas falas do texto O Capataz de
Salema dialoga com o mar, que aparece na forma de indicaes sonoras contidas nas suas
didasclias. Os rudos, silncios, canes, dilogos e narraes presentes no texto necessitam
ser retroalimentadas por imagens sonoras em aes concretas, uma vez que este texto [a meu
ver] representa a partitura de uma cano que vem do fundo do mar; sendo assim, para ser
ouvida, necessita ser encarnada. A polifonia sugerida no seu texto-partitura precisa ser
inspirada e expirada por corpos com vozes cantantes, que libertem as palavras e sons do texto-
partitura. no corpo-vocal dos atores que a cano do mar de Salema torna-se ntegra e viva.
Outro ponto relevante para a escolha do texto de Joaquim Cardozo foi o fato deste ser
um dramaturgo brasileiro, que busca nas manifestaes do nosso povo a matria prima para a
sua criao. A paisagem local nordestina trazida com poesia no texto de Cardozo, torna
presente e ao mesmo tempo recria as lembranas do universo do qual fazemos parte, dando
37
voz s vozes que habitam o nosso ambiente, as nossas crenas, os nossos costumes, o nosso
corpo:
Nasci em terras de mangue,
Onde se abraam as mars,
Em cujas guas brinquei
Muitos siris apanhei
Nas malhas dos jerers
(CARDOZO, 2001, p.23-24).
As didasclias presentes no texto O Capataz de Salema tm grande fora potica e
deslocam-se da posio de texto secundrio para fazer parte do texto primrio; ou seja, tm
tanta importncia quanto os dilogos das personagens, trazendo no seu cho noturno, delrios,
vontades e angstias, estmulos para o ator buscar a materialidade sonora durante o
laboratrio prtico A Ambincia Sonora na Cena.
38
3 A INTIMIDADE DO CORPO COLETIVO
Na primeira etapa do processo de criao da ambincia sonora da cena, realizada
durante os 6 primeiros encontros, buscou-se vivenciar a gnese do movimento sonoro no ator,
a partir da relao instantnea com o ambiente ao redor. Durante os exerccios, por meio de
propostas de movimentos corporais, com a experincia cinestsica experienciada, os atores
intensificaram a percepo dos seus prprios corpos, vivenciando e reestruturando o seu
volume corpreo interno, a noo do peso de diferentes partes do corpo e a percepo dos
ajustes corporais em posies distintas, ampliando assim a percepo de suas cavidades de
ressonncia e suas respectivas qualidades sonoras em relao as diferentes formas tomadas
pelo corpo durante os exerccios. A sonoridade se organizava a partir do contexto corporal do
momento, em que os atores eram estimulados a expressar os seus impulsos sonoros imediatos,
deixando o intuitivo tornar-se presente.
Uma vez estabelecida a inerente relao corpo-voz, os atores foram atentados a
perceber tambm, a relao do seu corpo-vocal com a vocalidade do corpo coletivo. As
emisses vocais sonorizadas por cada ator, surgiam, transformavam-se e transbordavam os
limites expressivos costumeiros de cada ator, uma vez que a proposta era que ele escutasse a
sonoridade que emanava do corpo coletivo e, a partir da, deixasse que a sua voz fosse
contagiada e contagiasse a vocalidade do ambiente, fazendo nascer a ambincia sonora do
corpo da cena, ponto de interesse dessa pesquisa. Para tanto, fez-se necessrio que cada
participante desse laboratrio aguasse os seus canais de percepo, no apenas para perceber
os seus impulsos sonoros internos, como para deix-los transitar no ambiente no qual
acontecia o processo de criao da ambincia sonora da cena, permitindo tambm
contaminaes, misturas, mudanas de estados a partir das imagens surgidas das relaes
corpreas do ator com o meio. E nessa inter-relao, uma ambincia sonora se fez presente,
ganhando forma por meio do dilogo de sons estabelecido pelo corpo coletivo.
Neste processo de criao, a sonoridade foi construda pela pluralidade de sons
composta a partir dos atores, estabelecendo-se uma relao de intimidade entre as pessoas que
participaram da pesquisa. O termo intimidade teve dois significados no processo de criao:
o primeiro, a necessidade de preparao de um ambiente seguro, receptivo, para que o grupo
de atores que, na maioria, nunca tinha trabalhado junto, tivesse confiana para se expor,
abrindo assim o seu prprio campo de criao para os demais atores; o segundo significado
39
referiu-se a ida ao ntimo de cada ator, a busca do que est alm da superfcie, do usual, do
bvio e visvel no processo de construo da linguagem sonora da cena, disponibilizando-o,
trazendo prontido, vigor e rigor para receber e fazer nascer um gesto sonoro novo. Para isso,
foi necessrio o acmulo de exerccios em grupo de percepo de si mesmo e do outro, como
por exemplo: imprimir toques diferentes no corpo do colega, enquanto este libera uma
vocalizao a partir deste toque; um conduz o outro com uma movimentao contnua,
enquanto este sonoriza acompanhando o fluxo do movimento conduzido; rolamento de coluna
acompanhado de vogais em glissandos ascendentes e descendentes; paradas no espao em
posies diversas e a partir daquele ajuste corporal, emitir um som; brincando com o rosto do
colega como se fosse uma massa de modelar, construir uma mscara e experimentar uma voz
para esta mscara. Nesse contexto de intimidade, de sensibilidade, frestas de dilogos inter-
corpreos propiciaram a criao de uma linguagem, um modo de comunicao entre as
pessoas que interagiam naquele ambiente.
A possibilidade de aprendizado, de descoberta de outra maneira de fazer, tambm
estava presente no ambiente de criao. Cada indivduo pode aumentar a sua capacidade de
experienciar, penetrando no meio organicamente em vrios nveis, quais sejam: intelectual,
fsico e intuitivo, desenvolvendo o seu lado intuitivo e espontneo durante o processo de
criao, transcendendo os limites daquilo que habitual, sem as roupagens de automatismos
do cotidiano, penetrando assim no desconhecido:
Atravs da espontaneidade somos re-formamos em ns mesmos. A
espontaneidade cria uma exploso que por um momento nos liberta de
quadros de referncias estticos, da memria sufocada por velhos fatos e
informaes, de teorias no digeridas e tcnicas que so na realidade
descobertas de outros.
O intuitivo s pode responder no imediato- no aqui e agora. Ele gera
suas ddivas no momento de espontaneidade, no momento quando estamos
livres para atuar e inter-relacionar, envolvendo-nos com o mundo nossa
volta que est em constante transformao (SPOLIN, 2000, p.4 ).
As brechas de dilogos aconteceram durante os exerccios de improvisao. Foi o
movimento sonoro preenchido durante o acaso que levou os atores a criarem no ambiente
sonoridades diferenciadas. Para tanto, no momento da improvisao, foi necessrio que os
atores permitissem que o esprito ldico se manifestasse, para que as regras fonticas pr-
estabelecidas deixassem de agir e a intuio entrasse em ao, criando outras possibilidades
fonticas:
40
Improvisar aceitar, a cada respirao, a transitoriedade e a eternidade.
Sabemos o que poder acontecer no dia seguinte ou no minuto seguinte,
mas no sabemos o que vai acontecer. Na medida em que nos sentimos
seguros do que vai acontecer, trancamos possibilidades futuras, nos
isolamos e nos defendemos contra essas surpresas essenciais. Entregar-se
significa cultivar uma atitude de no saber, nutrir-se do mistrio contido em
cada momento, que certamente surpreendente, e sempre novo
(NACHMANOVITCH, 1993, p.30, grifo do autor).
Os exerccios registrados no dirio de bordo durante a mediao do processo de
criao realizado, referentes primeira etapa, possibilitaram perceber que as propostas dirias
caminharam mantendo indicaes que se repetiram ao longo desta etapa do trabalho divididos
em: pr-aquecimento corporal-vocal; imediatez sonora; olhar com o olho interno, divididos
em corpo como mapa de memrias e lembrana sonora da infncia.
3.1 PREPARAO CORPORAL-VOCAL
Os exerccios de preparao corporal-vocal iniciavam-se com os atores
disponibilizando e flexibilizando o corpo- vocal para o processo de criao. Nesta etapa, o
objetivo especfico principal era aguar a conscincia perceptiva do ator em relao aos
estados do seu corpo-vocal e s mudanas ocorridas no mesmo [tenso, relaxamento, percurso
sonoro]. Partiu-se do princpio de que seria necessrio que o ator, por meio da experimentao
e percepo de diferentes integraes corporais-vocais no ambiente, pudesse criar e registrar
novas associaes de ajustes sonoros dentro dos parmetros de expressividade da voz
[respirao, ressonncia, vocalizao, articulao, timbre, melodias, ritmos, ajustes
musculares], a partir das mltiplas formas de estruturao desses parmetros em relao s
exigncias de funcionamento surgidas no corpo-vocal.
Buscou-se trabalhar com uma noo de aprendizagem vinculada conscincia do ator
acerca das constantes mudanas do seu corpo-vocal durante o processo de criao e na relao
com o ambiente, sendo fundamental a percepo do fluxo sonoro, deixando-o livre nesse
processo de descoberta e aprendizagem. No caso do processo de construo do laboratrio A
Ambincia Sonora da Cena, foi preciso pensar em um corpo-vocal apto a criar, indo alm
do que lhe automtico e cotidiano; formando mecanismos de registros que dessem suporte
tcnico ao ator, servindo como ferramentas a serem adaptadas e reorganizadas a cada nova
relao estabelecida com o ambiente. A noo de corpo organismo, diferindo da noo de
41
corpo mecnico [enquanto uma realizao funcional autmata dos rgos], trouxe
embasamento para a relao dos atores com o ambiente durante o laboratrio: [...] uma
possibilidade de estruturao no apenas dos rgos do corpo, mas da relao mente-corpo,
corpo-mundo etc. O todo orgnico sempre uma estrutura nascida de uma funo [...]
(GREINER, 2005, p.121-122). Foi a partir dessas conexes sonoras, desse tato distncia, da
reverberao vocal das ondas sonoras no corpo fsico do outro por meio de diferentes
qualidades vocais proporcionados atravs dos parmetros da voz, que aes sonoras foram
engendrando novas possibilidades de sons para os atores, no intuito de desestabilizar padres
vocais cotidianos, elastecendo-os para a criao de dinmicas de percursos extracotidianas:
O nosso corpo utilizado de maneira substancialmente diferente na vida
cotidiana e nas situaes de representao. No contexto cotidiano, a tcnica
do corpo est condicionada pela cultura, pelo estado social e pelo ofcio.
Em situao de representao existe uma diferente tcnica do corpo. Pode-
se ento distinguir uma tcnica cotidiana de uma tcnica extracotidiana
(BARBA, 1994, p. 30).
No laboratrio de criao de A Ambincia Sonora da Cena buscou-se tambm
tcnicas que possibilitassem a expanso da voz do ator para uma realidade extracotidiana, mas
considerou-se tambm que os novos ajustes vocais que os atores criaram partiram de seus
contextos sociais e culturais, elastecendo a vivncia cotidiana, por meio de tcnicas indutoras
de movimentos sonoros no usuais ajustes vocais extracotidianos buscando assim repensar
essa dicotomia do corpo em cotidiano e extracotidiano.
preciso compreender que no h dois corpos e sim que so
comportamentos diferenciados que habitam o mesmo corpo [...] como um
processo de transformao do corpo do ator proporcionando tanto por uma
preparao prvia, que implica em muito esforo e na eliminao de suas
limitaes, seus bloqueios, como pela situao especfica da representao
(MELLO, 2006, p.46, grifo do autor).
Tomando como base todas essas noes estudadas, pode-se inferir o conceito de
corpo-vocal-organismo. Sendo assim, foram re-pensados exerccios oriundos da
fonoaudiologia, buscando na relao inter-corprea o conhecimento e o re-processamento dos
parmetros da voz para a criao da ambincia sonora da cena.
O exerccio de pr-aquecimento para improvisao era iniciado estimulando os atores
a perceber sua prpria respirao, atentando para o seu ritmo e movimento, constatando como
42
o corpo se acomodava para inspirar e expirar em diferentes posies. A conscincia do
respirar tem extrema importncia quando se pensa em som vocal, uma vez que a energia
primeira e substancial da voz o impulso expiratrio. Fisiologicamente, a respirao [...]
responsvel pela vibrao das pregas vocais, juntamente com a elasticidade da musculatura
mioelstica da laringe (MARTINS, 2004, p.73) e por meio da variao dos impulsos
expiratrios o ator pode trazer qualidades vocais distintas, utilizando o parmetro respirao,
referentes s variaes de intensidade [aumentando ou diminuindo a quantidade de decibis
de um som, criando alternncias, acentos no fraseado da vocalizao]. A percepo da
respirao total, ou costo-diafragmtica-abdominal possibilitou a liberdade para criao de
dinmicas respiratrias organizadas e adaptadas a partir das relaes estabelecidas com o
meio.
Outro recurso vocal investigado durante essa etapa de explorao dos parmetros da
voz para a criao foi a ressonncia
1
. Costuma-se colocar a voz nas seguintes cavidades de
ressonncia: pulmes, laringe, faringe, cavidade da boca, cavidade nasal e os seios paranasais.
Durante essa etapa do laboratrio, buscou-se perceber novos ajustes de colocao das
freqncias vibratrias geradas nas pregas vocais em diferentes cavidades de ressonncia,
diferentes das usualmente utilizadas por cada ator para a sua voz falada a fim de criar
sonoridades extracotidianas.
O trabalho inicial de ressonncia objetivava soltar todo o trato vocal. Para isso, os
atores comeavam o exerccio a partir da realizao de bocejos, vocalizavam sons para
abaixar a laringe, emitiam sons nasais, gemidos e suspiros, tomando conscincia do
movimento sonoro desses sons, e deixando, durante suas execues, que o grau de tenso
muscular do corpo se moldasse aos estados sonoros, expandindo assim o tamanho e o formato
dos espaos internos de ressonncia da voz. As cavidades de ressonncia so estruturas
musculares e mveis, podendo ser ajustadas para gerar qualidades sonoras variadas:
As tenses musculares so responsveis por dificuldades respiratrias,
vocais, articulatrias e por dificuldades na utilizao das caixas de
1
O s i s t e ma d e r e s s on n c i a vo c a l o c onj u n t o d e e l e me n t o s do a p a r e l ho f on a d or
que gua r da m nt i ma r e l a o e n t r e s i , vi s a ndo mo l da g e m e a pr oj e o do s om no
e s p a o . A r e s s on n c i a c on s i s t e n o e s f or o d a i n t e n s i d a d e d e s on s d e d e t e r mi n a d a s
f r e q n c i a s do e s p e c t r o s on or o e n o a mo r t e c i me n t o d e ou t r a s
( BEHLAU, 2 001 , p . 1 04) .
43
ressonncia, modificando consideravelmente os componentes harmnicos
da voz (QUINTERO, 1989, p. 37).
A massagem sonora por intermdio dos exerccios de vibrao
2
dos lbios e da lngua,
lubrifica, ativa a temperatura, aumenta a elasticidade muscular da voz, favorecendo a
investigao de sonoridades de qualidades extracotidianas, alm de proporcionar conscincia
das possibilidades de extenso da voz no decorrer do exerccio ( emisso de vogais orais e
nasais, percorridas pelo trato vocal, descendo e subindo em glissando, ascendente e
descendente).Esses exerccios, visaram ampliar a flexibilidade tonal da voz dos atores e
favorecer a conscincia da extenso vocal de cada um.
O manuscrito de Bira Freitas revela a sua impresso sobre a importncia da preparao
para o trabalho do ator, como pode ser visto na seguinte figura:
2
v l i do p e ns a r s obr e o t e mp o d e e x e c u o de um e xe r c c i o. Se e l e f e i t o num
t e mp o mu i t o p e q u e no o u mu i t o g r a nd e , p od e c a us a r u m n o a qu e c i me n t o o u u ma
f a d i g a mu s c u l a r . p r e c i s o q u e o a t o r t e nha a pr op r i o c e p o da s e ns a o d o
a q u e c i me n t o . Es t u do s r e v e l a m q u e , pr o v a ve l me n t e , o m s c u l o n e c e s s i t a e m t o r n o
d e 2 mi n u t o s p a r a que d e t e r mi n a d o e x e r c c i o r e s po nd a a o s s e us obj e t i v o s .
Figura 1: Impresso
sobre a preparao
vocal. Manuscrito
do ator Bira Freitas
durante o processo
de criao da
ambincia sonora
como potica cnica.
Escola de Teatro da
Universidade
Federal da Bahia.
Nov. de 2005.
44
Esta etapa do trabalho reuniu exerccios especficos de voz seguidos de movimentos
para aquecimento e integrao do corpo como um todo; ou seja, durante a execuo de
sonoridades que visavam abertura e elasticidade da voz, outras partes do corpo ganhavam
movimento, com variaes de nveis do corpo (baixo, mdio e alto), explorando o contnuo
dos diferentes apoios do corpo em relao ao seu contato com o cho, sempre buscando a
integrao dinmica corporal-dinmica vocal.
3.2 IMEDIATEZ SONORA
No processo de criao, o impulso sonoro constituiu-se em elemento primordial do
ator para buscar em si mesmo recursos para obteno de imediatismo vocal no jogo cnico.
A investigao do impulso sonoro objetivou aguar a percepo dos atores, de modo a
disponibilizar o seu corpo a minimizar o tempo de resposta pensamento-ao vocal para o
jogo de improvisao vocal.
Exerccios de imediatez vocal foram feitos reiteradas vezes, no s explorando o
percurso sonoro gerado pelas diferentes condues e qualidades de toques do colega e as
respectivas texturas vocais surgidas no corpo-vocal, como tambm, na etapa posterior,
utilizando fragmentos do texto teatral O Capataz de Salema para experimentao de
qualidades vocais e curvas meldicas, com o corpo em movimento, aproveitando as
qualidades vocais que surgiram, no mesmo exerccio, que inicialmente foi feito livremente,
utilizando sons inarticulados.
Para o desenvolvimento deste princpio vocal, foi imprescindvel que os atores
estivessem conectados aos constantes impulsos sonoros gerados em seus corpos e
sintonizados com o parceiro que conduzia o movimento.
Durante o laboratrio, foi proposto aos atores que expressassem suas impresses em
relao s sensaes corporais-vocais vivenciadas. Os exerccios para a obteno de
imediatez sonora foram assim expressos pelo ator Bira, demonstrando a ntima integrao
45
corpo-voz e a necessidade de um corpo ativo, vivo para responder ao ambiente, como
revelado na figura 2
3
:
3.3 OLHAR COM O OLHO INTERNO
Nesta primeira fase de preparao para o processo de criao, foi solicitado aos atores
que fechassem os olhos durante a execuo de alguns exerccios, com o objetivo de que a
sonoridade que jorrasse dos corpos dos atores estivesse conectada com seus espaos internos,
brotando das suas vontades, do espao mais ntimo de suas memrias, nascendo das imagens
e sensaes em trnsito em suas entranhas
4
. Pode-se observar, atravs do manuscrito de
3
Tr a ns c r i o do ma n u s c r i t o d e Bi r a Fr e i t a s : voc a t e nt o a c a da t oque , a c a da
c o ndu o, o c o r p o v i vo . Vi v e n do c a d a e s t mu l o v oz e c o r po , u m s i n s t r u me n t o
o u do i s i n s t r u me n t o s e m p l e n a s i n t o n i a .
4
A e s c o l ha d o t e x t o O Capa t az de Sal e ma f o i i n f l u e n c i a d a p e l o t i p o d e
s o nor i d a d e d e s e j a d a p a r a e s t a p e s q u i s a . O p e r s on a g e m ma r a b r i u e s p a o p a r a
e nt r a r na s p r o f u n d e z a s , t r a z e ndo me t f or a s p a r a o f u n d o d a s p a i x e s d o s e r
h u ma n o .
Fi gur a 2 : Vo z e c o r p o u m s i n s t r u me n t o . Ma n us c r i t o do a t o r
Bi r a Fr e i t a s dur a nt e o pr oc e s s o de c r i a o da a mbi nc i a s onor a
c o mo p o t i c a c n i c a . Es c o l a d e Te a t r o d a Un i v e r s i d a d e Fe d e r a l
46
Jefferson Oliveira, a sua apropriao da voz enquanto corpo e sensao, e tambm, a sua
percepo das resistncias presentes no seu corpo-vocal, como pode ser analisado na figura
3:
5
Buscou-se tambm, prticas que favorecessem o contato de cada participante com seu
corpo, com suas lembranas, com sua histria de vida. Entre elas, trabalhou-se com os
seguintes exerccios:
5
Tr a ns c r i o do ma n u s c r i t o d e J e f f e r s o n Ol i v e i r a : A vo z o c o r po qu e a n d a po r
mi n h a s r u a s . As r u a s d e mi m. Mi n h a s v e i a s s o mi n h a s r u a s . E e s s e c o r po p a s s a ,
pa s s e i a . s ve z e s e l e e s c a pol e , out r a s f i c o p r e s o . Ma s e u o s i n t o, o pe r c e b o .
Fo r mi g a , c a u s a s e n s a o , e a d o r me c e . Ac or da , pa s s e i a e vi br a . Es s e c or po
d i f e r e n t e . Um p o u c o r e s i s t e n t e , ma s a o s p ou c o s e s t s e d a n do . Es t a g i nd o.
Gr i t a ndo .
Fi g ur a 3 : A vo z que a nd a po r mi n h a s r u a s . Ma nus c r i t o do a t o r
J e f f e r s o n Ol i v e i r a , d u r a n t e o p r oc e s s o de c r i a o da a mbi nc i a
s onor a c omo po t i c a c ni c a . Es c ol a de Te a t r o da Uni v e r s i da de
Fe d e r a l d a Ba h i a , n ov d e 20 05 .
47
3.3.1 Corpo como mapa de memrias
Visando conectar o corpo dos atores s lembranas, fez-se um exerccio onde a partir
do toque da mo do outro em um ponto do corpo, uma conexo imagtica era ativada e cada
um criou a sua rede de conexes visuais, auditivas, tteis, associadas as suas emoes. O
comando era o seguinte: cada toque em uma parte especfica do corpo gerava uma palavra que
devia ser dita por quem est sendo tocado. Percebeu-se que cada parte do corpo podia ser
associada a uma palavra, e esta lembrana trazia uma sonoridade nica: [...] a palavra vem
sem a gente pensar...
6
3.3.2 Lembrana sonora da infncia
A infncia conhece repentinos acordes do esprito,
dilataes inteiras do pensamento que uma idade mais
avanada volta a perder (ARTAUD, 1995, p. 11).
O processo de criao da sonoridade desta pesquisa considerou a origem de cada ator
para a criao. Assim, foi fundamental e necessrio, para trazer, como disse Artaud, esse
estado de dilataes inteiras do pensamento o contato dos atores com sonoridades que os
transportassem para as suas infncias.
O ludismo, naquele momento inicial, foi importante como tentativa de trazer de volta
o impulso natural da criana que se revela e mostra quem . Foi o momento tambm em que
cada ator se mostrou cantando uma msica, desvelando sua origem. A msica remeteu Psit
Mota s suas brincadeiras de heri, como percebido na figura 4
7
:
6
I nf or ma o v e r b a l da a t r i z , d i r e t o r a t e a t r a l e i n t e g r a n t e do gr u po Ra ps d i a Al d a
Va l r i a , dur a nt e a r e a l i z a o do e x e r c c i o no l a bor a t r i o do pr oc e s s o de c r i a o
d a a mb i n c i a s o no r a d a c e n a , n a Es c o l a d e Te a t r o d a Un i v e r s i d a d e Fe d e r a l d a
Ba hi a , e m 2005.
7
Tr a n s c r i o do ma n u s c r i t o d e Ps i t Mo t a : O e s p e l h o d a v i d a qu e v i q u a s e t o d a a
mi n h a i n f n c i a : v i q u a n d o e u u s a v a o me u e s t i l i n g u e p a r a a c e r t a r o s me u s
i n i mi g o s [ . . . ] As s i m t e n ho a c e r t e z a que e s t a r e i e nc e na ndo um pouc o da s mi nha s
l e mb r a n a s .
48
Duas msicas surgidas nessa etapa continuaram a ser utilizadas ao longo do processo
de criao: a msica Narizinho
8
, pela ludicidade da sua melodia e tambm pelo campo
semntico da sua letra: a fada brasileira que sonha em abrir a porta do reino das guas
claras... [Ivan Lins e Vitor Martins] e a msica do orix Yemanj
9
em ioruba, cantada em
cerimnias ritualsticas do Candombl [Domnio Pblico]. Esta fez parte da construo de
outras sonoridades surgidas durante o processo e funcionou como msica guia, favorecendo a
criao de outras atmosferas meldicas para o laboratrio de criao da ambincia sonora da
cena.
Portanto, a primeira etapa do laboratrio experimental visou a ampliao do
movimento vocal habitual, influenciado pelos jarges tcnicos, estticos e culturais, para que
os atores pudessem ter a prontido necessria para interagir no corpo coletivo, descobrindo
timbres, intensidades, melodias, pulsaes e harmonias novas e tambm para que eles, os
8
M s i c a t r a z i d a p e l o a t o r Ro b e r t o Br i t o .
9
Ms i c a t r a z i da pe l o a t or J e f f e r s on Ol i v e i r a .
Fi gur a 4 : Mi n h a s l e mb r a n a s . Ma n u s c r i t o d o a t or Ps i t Mo t a
d u r a n t e o p r o c e s s o d e c r i a o d a a mbi nc i a s onor a c omo po t i c a
c n i c a . Es c o l a d e Te a t r o d a Un i v e r s i d a d e Fe d e r a l d a Ba h i a . Se t .
2 005
49
atores, pudessem receber O Capataz de Salema, texto teatral que foi trabalhado na segunda
etapa do laboratrio, com uma menor carga de saberes pr-estabelecidos, estando mais
disponveis para o processo criativo.
Para a efetivao do trabalho proposto para aquele texto teatral, considerou-se a
memria corporal de cada ator, a possibilidade dela estar em constante re-significao a partir
da relao com o meio que, por sua vez, tambm muda com a interao. O ambiente de
criao foi o lugar permissivo e provocativo para uma polifonia, restaurando o sentido do
corpo-vocal em constantes interferncias culturais formando diversas ambincias sonoras
influenciadas pela diversidade cultural pertinente quele grupo.
50
4 LEVANTAMENTO DE MATRI A SONORA
1
[...] no teatro, mais do que em qualquer outro lugar,
do mundo afetivo que o ator deve tomar conscincia,
mas atribuindo a esse mundo virtudes que no so as
de uma imagem, e que comportam um sentido
material (ARTAUD, 1999, p. 153).
Partindo do princpio de que a sonoridade tem base essencialmente orgnica, ou seja,
ela concretizada a partir de um estado corporal de contrao e descontrao muscular em
determinados pontos do corpo do ator, gerando neste um pensamento emotivo que traz um
estado emocional, delineou-se o processo experimental da pesquisa de criao da ambincia
sonora do texto teatral O Capataz de Salema. Este princpio permeou o processo
experimental de busca da sonoridade do texto trabalhado, tendo a voz como material sonoro e
fonte de energia para a criao da cena. Os atores foram induzidos a trazerem para o corpo
dinmicas corporais diversas que possibilitassem a explorao das caractersticas fsicas de
vocalizaes.
No foi a narrativa efetuada pelas personagens do texto O Capataz de Salema que
ganhou destaque nessa pesquisa, mas sim os sentimentos por elas expressados. So as paixes
que transitam no mar, em Luzia e no capataz que foram investigadas no processo de criao
em cena encarnadas pelos atores enquanto interagiam com o ambiente.
Amar so duas vontades
Unidas num s desejo,
Num s desejo apenas,
Que se perde, ou, de amargura,
Muitas vezes, se envenena
(CARDOZO, 2001, p.29-30).
1
A e xp r e s s o Mat r i a Sonor a , a p r e s e n t a d a no t t u l o d e s t e c a p t u l o t r a du z o
o bj e t i vo d e c on c r e t i z a r a s on or i da d e c o mo c o mp o n e n t e e l e me n t a r d o a t or a o
a pr e s e nt a r uma c e na .
51
Para tanto, o texto trabalhado, impresso, foi recortado em pedaos de papel e
distribudo entre os atores como partes de um mapa que aos poucos se delineava, com vrias
portas de entrada que foram experimentadas durante todo o processo de criao da ambincia,
que teve como eixo a improvisao para o seu levantamento sonoro. Esta fragmentao do
texto possibilitou que os atores experimentassem a sonoridade das palavras em um contexto
menor, o que favoreceu que o ator esmiuasse o sentido de cada uma e brincasse
experimentando vrias qualidades de emisso.
Fi gur a 5: Ma pa de f r a s e s s ol t a s dos a t or e s dur a nt e o pr oc e s s o de c r i a o da
a mbi nc i a s onor a c o mo po t i c a c ni c a . Es c o l a de Te a t r o d a Un i v e r s i d a d e
Fe d e r a l d a Ba h i a . Nov. d e 200 5.
52
O processo de pesquisa foi conduzido na perspectiva de constituio de um corpo
nico formado pelos dez atores, onde cada elemento sonoro novo que surgia contagiava e
interferia na dinmica de movimento de cada elemento do grupo. O manuscrito de Genifer
Gerhardt (figura 6)
2
, demonstra que a percepo dos atores em relao a este processo de
criao caminhava para a construo de um corpo nico, que no era a voz de um ou de outro
isoladamente, mas a voz do corpo coletivo da cena, formada pela composio e dilogo das
diferentes vozes que ressonavam suas diferenas.
2
Tr a ns c r i o do ma n us c r i t o d e Ge n i f e r Ge r h a r d t : s i n t o c a d a u m d o gr upo c o mo me
s i n t o , e m u ma c r o s t a s ; e m u m o c e a n o s q u e , p o r v a s t o s e r , t e m t o u r o s e
a n dor i nh a s .
Fi g ur a 6 : Em um o c e a no s .
Ma nus c r i t o d a a t r i z Ge n i f e r Ge r ha r dt dur a nt e o pr oc e s s o de c r i a o da
a mbi nc i a s onor a c omo po t i c a c ni c a . Es c o l a d e Te a t r o d a Un i v e r s i d a de
Fe d e r a l d a Ba h i a . Nov. d e 200 5.
53
Os atores estavam em constante percepo de si mesmos em relao ao todo do
ambiente, onde a sonoridade era a guia condutora do processo, seja por meio da audio de
uma msica gravada, ou das vocalidades improvisadas naquele momento, trazendo
ambincias sonoras que materializavam o personagem Mar, inspirado no texto O Capataz de
Salema, formando um novelo de vibraes sonoras no ambiente de laboratrio.
Todo o processo inicial de criao sonora teve como base o trabalho com as metforas
contidas nos mistrios do fundo do mar. Salientou-se a no explorao dos aspectos
figurativos do mar, mas sim a revelao das vocalizaes entranhadas em cada ator (no fundo
de cada um) e expressas sem palavras articuladas, somente por meio de sons. A metfora foi
trabalhada nesta pesquisa no com a finalidade de substituir uma palavra por um som, e sim
como uma reatualizao de uma situao ou idia que se fazia de um determinado contexto.
Foi solicitado aos atores a produo de vocalizaes para uma determinada imagem, mas que
no fossem a referncia sonora imediata para a percepo da mesma. Com o apoio do real,
mas transfiguradas na imaginao dos atores, imagens sonoras foram criadas a partir do fluxo
de imagens que perpassava no corpo dos atores no instante do processo de criao da
ambincia sonora
( LAPLANTI NE e TRI NDADE, 2003) .
Como proposta prtica, nesta segunda etapa da pesquisa, foi solicitado aos atores que
buscassem trazer para a sonoridade do corpo metforas para palavras tais como: mar, fundo,
mistrio, tempo, silncio. Para trazer recursos tcnicos fazer para a criao dos atores,
fragmentou-se primeiro a voz dentro dos seguintes parmetros: respirao, volume sonoro,
timbres vocais e extenso vocal.
Para trabalhar diferentes ajustes respiratrios, aps perceberem na prtica, os
principais msculos envolvidos na dinmica da respirao [intercostais internos e externos,
diafragma e abdome] e no movimento respiratrio, que acontece de maneira tridimensional,
foi solicitado que os atores explorassem o corpo em diversas posturas pelo ambiente,
verificando onde este estaria livre para respirar naquela determinada posio. Foi percebido
que, dependendo da posio do corpo no espao, um determinado suporte muscular est livre
para respirar. Por exemplo: quando se est em decbito lateral, percebe-se mais a
movimentao da musculatura abdominal e intercostal do lado que est fora do cho.
54
Em relao ao parmetro volume, foi pedido aos atores que os seus corpos fossem
explorados em constantes movimentos de expanso e retrao, em diferentes nveis em
relao ao espao, deixando a intensidade da voz variar conforme o movimento. Por exemplo:
como um saco de pipoca, ir aumentando a intensidade [volume] do som, medida que o saco
de pipoca fosse enchendo atravs da expanso dos braos arredondados.
O timbre foi pesquisado trazendo para o corpo as metforas da caixa de ressonncia e
freqncia de vibrao de instrumentos musicais. Como se fossem, por exemplo, uma flauta,
um tambor, um violoncelo, um trombone, entre outros, fazer com o corpo a forma de tais
instrumentos e experimentar a sua qualidade sonora. Neste exerccio, foi vlido salientar a
relao fsica dos instrumentos e o som que geravam, como a diferena entre um cavaquinho
e um violo, por exemplo, o menor gera um som mais agudo enquanto o maior gera um som
mais grave. O trato vocal tambm funciona como uma caixa de ressonncia, porm com uma
grande capacidade de moldar as suas caixas de ressonncia de formas variadas. Este exerccio
chamou a ateno para o fato de tambm ser o ajuste muscular das cavidades de ressonncia
responsvel pela sensao auditiva de um som ser grave ou agudo, podendo o ator apenas
mexer nos ressonadores para modificar a qualidade vocal, como por exemplo, falar em sorriso
[sensao auditiva de som mais agudo, ou alongando os lbios para a frente -sensao
auditiva de um som mais grave].
Por ltimo, foi trabalhada a extenso vocal. Como se fossem desenhadas pelos atores
curvas meldicas no espao, surgidas com os seus corpos traando movimentos, com
variaes de fluxo, tempo e relao espacial, que eram integrados a variaes vocais que
suscitavam diferenas de timbres, entonaes e intensidades.
Na figura 7,
3
segue impresso de Roberto Brito sobre os processos de mudanas
percebidos na sua voz ao poder, neste laboratrio, experimentar outras maneiras de vocalizar
3
Tr a n s c r i o do ma n u s c r i t o d e Ro b e r t o Br i t o : Ab e r t ur a s . Cor po e m d e s c ons t r u o
do bvi o. Voz que s e a r r i s c a e s e c a ns a e s e r e s t a b e l e c e . Me u c o r po br i nc a , s e
p e r do a , e r e s s o a c o m mu i t o g o s t o . Pa l a v r a s , s o n s , g e s t os p a s s a m me n o s
d e s p e r c e b i d o s .
55
A preparao para a criao da ambincia sonora na cena propriamente dita libertou as
vozes dos atores das expresses sonoras estereotipadas do cotidiano, permitindo que
associaes de imagens e sons do turbilho do mar se fizessem presentes no corpo-vocal do
ator. Um emaranhado de formas diversas na imaginao sonora foi despertado pelas
metforas e tcnicas extracotidianas aplicadas ao elemento gerador de imagens sonoras fundo
do mar no laboratrio de criao.
Fi gur a 7 : A vo z q u e s e a r r i s c a . Ma n u s c r i t o d o a t o r Ro b e r t o Br i t o du r a n t e o
p r oc e s s o de c r i a o da a mbi nc i a s ono r a c omo po t i c a c ni c a . Es c ol a de
Te a t r o d a Un i v e r s i d a d e Fe d e r a l d a Ba h i a . Nov . d e 200 5.
56
4.1 MATRIZES DE IDENTIFICAO
Para compor esta etapa que antecedeu o trabalho que utilizou como base o texto O
Capataz de Salema, buscou-se estimular os atores criao de clulas de movimento
corporal-vocal, chamadas de matrizes de identificao. O processo de criao das matrizes
deu-se a partir do desenho e preenchimento dos espaos em branco com outros desenhos,
figuras coladas, palavras e expresses significativas para cada ator ali representado. Tomou-se
como ponto de partida a realizao do desenho da silhueta feita no papel metro, riscada por
cada ator, as suas corporeidades representativas como matrizes de identificao para esta
pesquisa. A porta de entrada para o texto O Capataz de Salema se deu a partir da
transposio realizada entre as imagens sonoras dessas clulas de movimento criadas pelos
atores e o seu eco reverberando nas palavras do texto, sugerindo possveis colagens e misturas
de expresso. As matrizes de identificao foram criadas da seguinte maneira: 1) estmulo
dado ao ator; 2) clula de movimento corporificado pelo ator sugeriu determinada passagem
do texto O Capataz de Salema; 3) transcrio e recorte do texto que foi passado para o ator;
4) transformao do fragmento do texto a partir da sua clula de movimento corporal-vocal do
ator.
O trabalho da silhueta teve tambm como objetivo um processo de criao que tivesse
o texto dramtico como guia, porm sem partir do estudo do texto para construo de
personagens ou de suas vocalidades. O objetivo foi pesquisar a sonoridade que nasce dos
devaneios de cada ator e em constantes possibilidades de entradas e sadas, complementando
e sendo complementada, constituindo uma linguagem cnica fundada na experincia do ator e
das relaes estabelecidas no ambiente de criao.
4.1.1 O trabalho com a silhueta
Esta tarefa consistiu-se em fazer o contorno de cada corpo no papel metro, na posio
em que cada um desejasse estar; a partir da identificao de cada ator com a sua silhueta,
estas eram preenchidas por eles com linhas, curvas, cores, desenhos, colagens variadas,
permitindo o nascimento de esquemas e imagens corporais que revelavam a entrada na
intimidade, nos sonhos, e no imaginrio de cada um dos atores (figura 8).
57
Figura 8: Entrando na
intimidade. Desenho da silhueta
da atriz Norma Suely,
preenchida pela atriz. Escola de
Teatro da Universidade Federal
da Bahia. Set. de 2005.
58
Depois deste primeiro momento, que serviu como porta de acesso ao imaginrio de
cada ator, atravs de rabiscos, foi pedido que as imagens e sensaes mais fortes fossem
trazidas para o corpo por meio do impulso de imagens, ou seja, tornar visvel imagens em
estados de sensaes corpreas concretas, carregadas por essas lembranas e sentimentos.
O termo Imagem foi compreendido nesta pesquisa como registro mental construdo
por sinais provenientes de estmulos sensoriais visuais, auditivos, gustatrios e somato-
sensitivos ou somatosensitrios, percebidos de maneiras distintas: tato, temperatura, dor,
percepo muscular, visceral, vestibular. Portanto, imagem no diz respeito apenas ao que
visual, mas sim aos fragmentos sentidos e percebidos do ambiente, que so recortados e
reestruturados a partir da fuso com imagens internas, que podem ser musculares e, sobretudo
sonoras (DAMSIO,1999).
Portanto, no laboratrio A Ambincia Sonora na Cena, foi o ambiente sonoro que
criou a atmosfera para o surgimento de um fluxo de imagens, sendo tambm realimentado e
imerso pelo mesmo. Desse modo, gestos, movimentos, estados viscerais, tnus muscular,
memrias e imaginao misturaram-se, e a sonoridade foi o ponto chave para todo o processo
de criao.
A proposta do trabalho da silhueta foi assim absorvida pelo grupo, como se pode ler
nas palavras dos atores em cartas escritas por eles durante o processo de criao (figura 9 e
figura 10)
4
:
4
Tr a ns c r i o do ma nus c r i t o da a t r i z Mo n i z e Mo u r a ( f i gur a 9 ) : o c o n t or no qu a s e
e m p o s i o f e t a l . Eu c r i a n a : p e r n a s e ng e s s a da s . De s e nr o s c a , d e s e n r o s c a .
Ca mb a l e a nt e s , ma s dur a s na mu r a l ha do ge s s o. Vont a de de c a br i da r , de da r s a l t os ,
d e f a l a r . . . O s o m n o s e a r t i c u l a ! Tu do r u d o, t ud o s o m g u t u r a l . . . De ba i x o p r a
c i ma h r u d o e mp e dr a d o, c a v e r n o s o , de mu r a l h a d e ge s s o .
Tr a ns c r i o d o ma n us c r i t o d o a t o r Ps i t Mo t a ( f i gu r a 10 ) : e s s a i ma g e m d e qu a ndo
e u f i c a v a s o z i nho , no me i o d a e s t r a d a e v i a mi n h a m e s e g u i n do c o m o s o u t r o s
i r m o s e m d i r e o f o n t e .
59
Fi g ur a 9 : Ru d o e mp e dr a d o e c a v e r no s o. Ma n u s c r i t o d a a t r i z Mo n i z e
Mo ur a . Es c o l a d e Te a t r o d a Un i v e r s i d a d e Fe d e r a l d a Ba h i a . No v. d e
2 005 .
60
Fi g ur a 10: I ma g e m d a i n f n c i a . Ma n u s c r i t o do a t o r Pi s i t Mo t a . Es c o l a
d e Te a t r o d a Un i v e r s i d a d e Fe d e r a l d a Ba h i a . Nov . d e 2 005 .
61
Quando foi solicitado aos atores que trouxessem as metforas dos seus desenhos na
silhueta para o corpo, estes fizeram transposies que resultaram em um corpo-sonoro. Um
dos desenhos analisados retratava o corpo trazido pela atriz Monize Moura; um corpo
curvado, que apresentava contores de braos e pernas e um som gutural que trazia a
imagem de dor profunda e seca. J o desenho do corpo do ator Psit Mota, apresentava-se com
as duas mos abertas na altura da cabea e fazia um som da vogal /u/ bem alongada, projetada
com suavidade para um espao alm daquela sala onde acontecia o ensaio. Havia um
sentimento de saudade, de partida muito forte na imagem sonorizada por ele. As duas imagens
construdas pelo atores sugeriram conexes com imagens do texto O Capataz de Salema,
respectivamente:
Sou terra profunda e seca
s o mar claro e presente
(CARDOZO, 2001, p.25).
E uma onda do mar subiu
Como a lngua de um gigante.
Puxou o corpo encoberto
Que foi flutuando ngua,
Se afastando na corrente,
Como um barco navegando
(CARDOZO, 2001, p.34).
Num segundo encontro com os atores, foi pedido que eles resgatassem as imagens
sonorizadas durante o ensaio anterior, comeando-se ento, a insero dos fragmentos do
texto de Joaquim Cardozo no processo de criao; porm, os atores foram estimulados para
que tivessem a liberdade de trabalhar as palavras do texto, que mantivessem as imagens
construdas e que a partir das sensaes marcadas por estas, fizessem nascer a sonorizao
daquela palavra. A partitura criada por Geniffer Gerhardt e o seu manuscrito remetia a uma
imagem de algum que testemunhava que algo de muito cruel iria acontecer. Foi dado o texto
seguinte, de O Capataz de Salema para que a atriz experimentasse manter as suas imagens
naquela parte do texto.
62
Pode-se observar a relao estabelecida entre o manuscrito de Geniffer referente a
criao dessa partitura (figura 11)
5
e o fragmento do texto de Joaquim Cardozo:
No cu passavam, sem chuvas
As grandes nuvens em frota.
Todas as fontes secaram
At no fundo das grotas.
(CARDOZO, 2001, p.29)
5
Tr a n s c r i o d o ma n u s c r i t o d e Ge n i f f e r Ge r h a r d t : n o p e i t o u m g r a nd e o l ho . Tudo
o l h a , ma s o q u e v d i f e r e . Tu do o uv e , ma s o s o m mu d o. E t ud o s e n t e , e di .
Fi gur a 11: O s o m mu d o. Ma nu s c r i t o d a a t r i z Ge n i f f e r Ge r h a r d t . Es c o l a d e
Te a t r o d a Un i v e r s i d a d e Fe d e r a l d a Ba h i a . Nov . d e 200 5.
63
J a partitura criada por Mnica Mello trazia a imagem de algum que apagava
chamas de fogo no seu prprio corpo. vlido salientar que as escolhas dos fragmentos de
texto trabalhados pelos atores foram selecionados a partir do que foi ouvido e visto nas
partituras criadas pelos atores, que, de alguma forma faziam relao com a descrio das
imagens vivenciadas por eles, porm distintas. Da figura
6
abaixo, foi associado o texto
seguinte para experimentao pela atriz:
Cuidado!Que o mar derrama...
Cuidado! Que o mar rasteja...
(CARDOZO, 2001, p.27)
6
Tr a n s c r i o d o ma n u s c r i t o d e M n i c a Me l l o : a o me t o c a r c a d a v e z c o m u ma m o
e m u ma d i f e r e n t e p a r t e do c o r p o, p e r c e b i a t a n t o u ma n e c e s s i d a de d e c ob r i r a qu e l e
c o r po qu e h a v i a f e i t o d e s nud o c o mo l e v a v a a m o a p on t o s d e do r e
d e s f a l e c i me n t o .
Fi g ur a 12: O c or po d e s n udo . Ma n u s c r i t o d a a t r i z M n i c a Me l l o
d u r a n t e o p r o c e s s o d e c r i a o d a a mbi nc i a s onor a c omo po t i c a
c ni c a .
64
4.2 UM CORPO S
Passadas a etapa de matrizes de identificao, em que cada ator penetrou na sua
intimidade e a trouxe como metfora sonora para a pesquisa, fez-se necessrio evidenciar o
processo de criao de um corpo s, ou corpo coletivo, cuja composio sonora foi criada a
partir do dilogo vocal entre os atores no laboratrio. Como proposta deste corpo s, j
trabalhando a atmosfera do texto O Capataz de Salema, foi feita a seguinte proposta de jogo:
4.2.1 A vida e a morte
O Teatro de Cardozo diferente porque um teatro da morte, assim como o
toda a sua poesia. No a morte destruidora da vida e das idias; no a morte
apartada da vida (contra essa ele vai lutar at a morte), mas a morte inserida
na vida e propiciadora de vida (LEITE, 2003, p.44).
O duplo vida-morte esteve presente no processo de criao da sonoridade de Cano
do Mar de Salema, e estimulou a criao das ambincias sonoras que rodeavam as falas de
Sinh Ricarda, nas quais a personagem narra a morte dos seus seis filhos devorados pela
lngua gigante do mar e que num impulso derradeiro, de velas cheias se ergueram, tomadas
de um grande vo(...)Parecendo que rumavam para os pesqueiros do cu (CARDOZO, 2001,
p.36).
Foram trabalhados os estados de vida e de morte, propondo-se para os atores extremos
imagticos- inferno e cu - como forma de suscitar sonoridades que se manifestaram em alto
grau de intensidade e que puderam tambm encontrar um ponto de passagem onde uma se
transformava na outra. Para isso, foi proposto que os atores buscassem a imagem do cu
movimentando o corpo para cima, ao mesmo tempo em que uma fora oposta os puxava para
baixo, para o inferno e neste trnsito entre o cu e o inferno nasceram sonoridades que
concretizaram o duplo vida-morte.
Esse exerccio foi feito com os atores posicionados prximos uns dos outros e dentro
da proposta de cada um deixar que o seu processo de criao acolhesse as interferncias da
sonoridade do ambiente.
65
A atriz que atuou representando a personagem Sinh Ricarda comeou a trabalhar a
sonoridade das palavras do seu texto embebida neste ambiente sonoro criado pelos outros
atores, dentro da proposta do cu-inferno.
4.3 instalao de atmosfera sonora para o processo de criao dos atores
Nos encontros do laboratrio Ambincia Sonora na Cena, a msica gravada esteve
presente em vrios momentos, visando estimular o processo de criao: desde a primeira
etapa, intitulado nesta pesquisa de intimidade do corpo coletivo, at os momentos finais, para
os quais foram definidas algumas ambincias sonoras para experimentao, em apresentao
pblica. A msica desempenhou inmeras funes, dependendo do objetivo de cada etapa do
trabalho: estimular a concentrao do grupo, construir energia para iniciar as improvisaes,
ou estimular um determinado processo de criao.
Foi selecionado o repertrio de msicas que seriam usadas no laboratrio, sendo
escolhidas algumas, em funo das suas qualidades sonoras iniciais, que conduziriam este
processo de criao, cujos elementos foram a terra e a gua. Estas referncias se basearam em
imagens provocadas por palavras do texto terra-me, terra-mulher e nas didasclias referentes
ao mar, abrindo um espao propcio onde os atores poderiam expandir seu imaginrio sonoro,
daquele mar misterioso, cheio de histrias de vida, de morte, riquezas e sobrevivncias dos
seres de Salema.
As msicas escolhidas imprimiam sensao nos atores devido ao ritmo, melodia,
intensidade e combinao de sons. Sendo assim, a sua pulsao induzia um determinado tipo
de movimento corporal, que por sua vez, interferia no movimento vocal dos atores, como um
ritual onde o corpo e o som estabeleciam uma relao de ntima consonncia. A msica
capaz de distender, contrair, deslocar, gerando sensaes psicofsicas, que levam o ator para
as suas lembranas, e associaes novas de idias. Existe na msica uma gesticulao
fantasmtica, que est como que modelando objetos interiores (WISNIK, 1989, p. 30).
As msicas trabalhadas foram selecionadas para os laboratrios partindo do princpio
de que elas no deveriam ter letra cantada na lngua portuguesa, uma vez que tal tipo de
msica traz uma narrativa construda a partir de referncias semnticas, podendo limitar os
66
atores a querer entender o que seria dito e direcion-los a representar o contexto falado na
cano. Buscou-se ainda msicas de carter circular, que fossem e voltassem sempre para o
mesmo ponto, mergulhando os atores em um espao-tempo onde eles no pudessem perceber
onde era o comeo ou o final da msica e at que ponto ela se fazia presente durante o
processo de criao. Podem-se traar semelhanas das msicas utilizadas no laboratrio
prtico da pesquisa com caractersticas da msica modal, porque...
[...] essa msica voltada para a pulsao rtmica; nela, as alturas meldicas
esto quase sempre a servio do ritmo, criando pulsaes complexas e uma
experincia do tempo vivido como descontinuidade contnua, como
repetio permanente do diferente. (Por isso mesmo elas apresentam esse
carter recorrente, que nos parece esttico, mas bem mais exttico,
hipntico, experincia de um tempo circular do qual difcil sair, depois
que se entra nele, porque sem fim.) A msica modal participa de uma
espcie de respirao do universo, ou ento da produo de um tempo
coletivo, social, que um tempo virtual, uma espcie de suspenso do
tempo, retornando sobre si mesmo. So basicamente msicas do pulso, do
ritmo, da produo de uma outra ordem de durao, subordinada a
prioridades rituais. Pois bem: essas msicas no poderiam deixar de ter a
presena muito forte das percusses (tambores, guizos, gongos, pandeiros)
[...] E tambm um mundo de timbres: instrumentos que so vozes e vozes
que so instrumentos (vozes-tambores, vozes-ctaras, vozes-flautas, vozes-
guizos, vozes-gozo). Falsetes, jodls (aquele ataque de garganta que
caracteriza o canto tirols e que est em certas msicas africanas), vozeios,
vocalises, sussurros, sotaques, timbres (WISNIK, 1989, p.40).
As msicas ouvidas pelos atores no laboratrio de criao apresentavam carter
circular, a experincia de um tempo que no tem um fim e a forte presena da percusso a
exemplo dos sons indgenas do msico Wakay e da msica de Yemanj do CD Odum Orm
do grupo OF. A eficcia simblica daquelas msicas de carter modal estava direcionada,
pela possibilidade de trazerem diferentes estados afetivos: sensuais, blicos, eufricos..., aos
cdigos culturais estabelecidos, tendo assim a msica modal eficincia de atuao sobre o
corpo cultural, por meio da rede de associaes enraizadas no corpo.
No caso do laboratrio desenvolvido nesta pesquisa, seus participantes foram
estimulados, durante o processo de criao, a trazer metforas para o corpo-vocal evocadas
pelas msicas africanas e indgenas supracitadas. Apesar do grupo de atores terem histrias de
vida e pertencerem a contextos sociais e culturais diferentes, supe-se que as sonoridades das
msicas escolhidas de uma forma ou outra fazem parte da cultura brasileira, constituindo um
campo simblico que tambm encontra fortes referncias neste povo.
67
Diversos contextos culturais organizam o campo sonoro das escalas musicais
possibilitando associaes de relao da msica com o mar: talvez porque em seu estado
primrio e indiferenciado o campo das alturas seja to fluido, uma longa tradio ligue
simbolicamente a msica ao mar (WISNIK, 1989, p.72). A grande carga mitolgica do
oceano, associada aos mitos gregos formulam de maneira eloqente o carter ocenico do
som:
Arion, prisioneiro de marinheiros que querem atir-lo s guas, pede para
entoar o seu prprio canto fnebre, acompanhado da sua lira, e em seguida
se lana por conta prpria ao oceano, onde os golfinhos, delfins de Apolo,
atrados pela msica, o salvam (WISNIK, 1989, p. 72).
A presena mitolgica, no Brasil, relacionada s guas do mar (Iemanj, me e mulher
de todos os que vivem no mar), faz parte do imaginrio local e tambm dos participantes do
laboratrio desta investigao. As msicas com sons do mar levaram os atores a esse lugar
misterioso, cosmognico e fantasioso, trazendo um vasto campo imaginrio para a criao de
sonoridades relacionadas ao ambiente martimo. O Cd Oceanos do compositor Andrey
Cechelero, utilizado durante o processo de criao, continha msicas compostas por sons de
ondas, do vai-e-vem do mar acompanhadas por melodias de piano e vocalizes que
proporcionavam um estado de fluidez no corpo-vocal dos atores, agindo como facilitador para
a construo de imagens sonoras pelos atores.
As msicas selecionadas para o laboratrio fizeram parte do ambiente de criao no
intuito de favorecer a instalao de atmosferas rtmicas diversas no laboratrio e delimitar
uma unidade conceitual para cada encontro, proporcionando tambm a explorao e
ampliao do repertrio de sensaes e imagens sonoras dos atores e a criao da ambincia
cnica, tendo unicamente os atores realizando toda a sonorizao da cena: a msica, a
sonoplastia, o canto e os dilogos presentes no texto.
A anlise das sonoridades criadas e compostas, objeto e alimento para o processo de
criao, foram divididas nesta dissertao em tpicos, a saber: o ator recriando msica; o uso
de materiais sonoros e o texto e o som.
68
4.3.1 O ator recriando msica
Nesta etapa do laboratrio, direcionada investigao dos recursos meldicos da voz
para a cena, foram propostos dois exerccios: a) criao de clulas meldicas b) musicalidade
da poesia.
a) Criao de clulas meldicas
Objetivando que os atores criassem fragmentos meldicos e descobrissem as
possibilidades de mistura entre voz falada e voz cantada na composio de suas partituras
sonoras, foi proposto aos atores a escuta da msica Yemanj do grupo OF e percepo das
suas caractersticas rtmicas, articulatrias, meldicas e de timbre vocal, servindo estes
parmetros como elementos de composio das partituras sonoras dos prprios atores.
Os resultados foram diversos entre si, sonorizados pelos atores dos seguintes modos:
Roberto de Brito criou uma clula meldica mantendo o clima, a atmosfera da msica de
origem; Jefferson Oliveira criou uma emisso vocal utilizando fonemas plosivos, mantendo
assim o ritmo da msica inicial; Marita Ventura manteve a melodia inicial da msica e criou
uma outra seqncia fontica empregando a mesma qualidade de emisso do idioma iorub;
Genifer Gerhardt fez omisso de algumas notas da melodia inicial e criou uma emisso em
Staccato; j Norma Suely, manteve a melodia inicial quase em sua ntegra, porm trouxe para
a sua qualidade vocal uma emisso chorosa utilizando vogal em fluxo contnuo. Assim, foi
criada uma pluralidade de possibilidades de desdobramentos, partindo de uma mesma msica
como estmulo inicial, por meio de variaes das caractersticas da msica de origem,
marcada pela diferente percepo e criao sonora de cada ator.
O ambiente de criao se encarregava de proporcionar a mistura, a interao entre os
atores, estimulando a polifonia devido s dinmicas de movimentos corpreo-vocais surgidas
e trocadas naquele ambiente.
69
b) Musicalidade da poesia
Outro exerccio realizado foi a criao sonora baseada na musicalidade da poesia, por
meio da experimentao de diferentes formas de estruturao da sua sonoridade. Foram
criadas as seguintes possibilidades de sonorizao das poesias: alternncia do ato de falar
individual com o ato de falar grupal; escolha e sonorizao de palavras faladas repetidamente
ao longo da poesia; seleo de alguns versos a serem falados em cnone; combinao sonora
das emisses vocais de dois atores falando a poesia ao mesmo tempo e de formas inversas, um
vocalizando a poesia de trs para frente e o outro de frente para trs; variao de timbre vocal
e de intensidade.
Este exerccio foi realizado com os atores divididos em dois grupos, masculino e
feminino. Eles foram solicitados a investigar a musicalidade da poesia por meio da
experimentao das variadas formas de compor a sonoridade da mesma, utilizando as suas
vozes como um corpo coletivo vocal, ou seja, a orquestrao das vozes compondo um corpo
sonoro nico. Segue exemplo de como ficou a criao coletiva deste exerccio a partir de um
fragmento da fala em verso da personagem Luzia, experimentada pelo grupo feminino e da
fala em verso do capataz, experimentada pelo grupo masculino, respectivamente:
Luzia O homem que nasce a morte
Que nasce. Tudo o que existe
(vida vivendo na morte)
Um dia desaparece
Deixando apenas lembrana
De uma dor, ou de uma prece.
Sou terra humilde e senhora
Sou terra humilde e mulher...
A que recebe em seu seio
Tudo o que o mar rejeita
Tudo o que o mar no quer.
Dos mortos no mar aceita
Os corpos que lhe vm dar;
Nada repele ou recusa.
[...]
morto tudo que chega
s regies do esquecido;
[...]
Que na vida tudo morto
E tudo na terra vida
(CARDOZO, 2001, p.25-27).
70
O grupo feminino, aps experimentar variadas composies, escolheu como
representao sonora da fora do elemento terra que permeia esse fragmento de texto, a
qualidade sonora caracterizada no exemplo que segue: as falas em negrito foram sonorizadas
em coro com forte intensidade e de maneira que fossem complemento das emisses da atriz
solista Marita Ventura, que vocalizava os outros versos como um anncio de acontecimento
futuro.
O homem que nasce a morte que nasce
Vida vivendo na morte
Tudo o que existe
Vida vivendo na morte
Um dia desaparece
Vivendo na morte
Deixando apenas
Morte
Lembrana de uma dor
Morte
ou de uma prece
Prece
Sou terra humilde e senhora
Dor
Sou terra humilde e mulher...
Lembrana
A que recebe em seu seio
Desaparece
Tudo o que o mar rejeita
Morte
Tudo o que o mar no quer
Vida
Dos mortos no mar aceita
Tudo
Os corpos que lhe vm dar
Nasce
Nada repele ou recusa.
morto tudo que chega
s regies do esquecido
E na vida tudo morto
E tudo na terra vida.
A escolha do elemento terra para ser trabalhado no corpo da atriz Marita Ventura com
esses versos do texto, configurou uma emisso vocal com peso intenso, com pronncia direta
e clara e em tons graves; a alternncia sonora da voz emitida em solo com as vozes emitidas
em coro, permitiram uma variao do ritmo da fala e da qualidade de timbre, criando uma
dramaturgia sonora para a linguagem da cena. Nesse contexto, o texto O Capataz de Salema,
71
foi modificado pela cena criada pelas atrizes, as vozes e as falas sonorizadas no eram mais da
personagem Luzia, mas sim uma fala que vinha do mar.
A fala em verso do personagem Capataz trabalhada pelo grupo masculino foi a
seguinte:
Capataz Depois te vi na varanda
De um sobrado no Recife,
Num dia de procisso;
Usavas vestido novo,
Todo de renda e galo,
Trazias cravos no peito,
Uma Rosa em cada mo...
(CARDOZO, 2001, p.22)
A experimentao da musicalidade da poesia realizada pelo grupo masculino
configurou uma composio sonora: dois atores vocalizaram a poesia ao mesmo tempo, onde
um dizia a poesia obedecendo a ordem da escrita do texto, criando suas imagens para as
palavras ditas, enquanto o outro dizia os versos em ordem inversa, lendo-os de baixo para
cima, criando outras imagens e sensaes.
Depois te vi na varanda de um sobrado
Cada rosa uma
Num dia de procisso
No peito cravos trazias
Usavas vestido novo
Novo vestido usavas
Todo de renda e galo
Na procisso de um dia
Trazias cravos no peito
Num sobrado de uma varanda
Uma Rosa em cada mo
Depois...
Tal dinmica sonora gerou um outro sentido para a poesia, a partir da brincadeira com
o cruzamento das falas emitidas nos intervalos da fala do outro; tambm a emisso de duas
vozes concomitantemente sonorizadas possibilitou, por meio desta composio auditiva, a
72
imagem do duplo do personagem capataz, dois homens com vozes diferentes falando com o
mesmo texto, em ordem inversa para a mesma mulher.
Esses exerccios permitiram aos atores a investigao de outros sentidos dados ao
texto potico por meio da experimentao das musicalidades criadas e compostas pela
sonoridade do corpo coletivo.
4.3.2 O uso de materiais sonoros
Se a ao exigir msica, ela ser produzida pelos nicos meios de que
o ator dispe: sua voz, sua capacidade de tocar um instrumento; e as
impercias ou imperfeies da sua execuo instrumental ou do seu
canto tornar-se-o elementos comoventes, expressivos da
vulnerabilidade humana que ele procura manifestar (ROUBINE,
1998, p.164).
A partir dos fundamentos de criao de partitura sonora do Teatro-Laboratrio, do
diretor polons Grotowski, desenvolveu-se uma nova fase da pesquisa prtica do laboratrio
de criao, que objetivou expandir as possibilidades sonoras desempenhadas pelos atores por
meio do uso de materiais sonoros para a criao e execuo da sonoplastia da cena. Alm da
experimentao dos sons produzidos pelas suas prprias vozes em situao de jogo, a
manipulao de materiais sonoros tambm participou da interao sonora do ambiente,
ampliando para os atores novos recursos de criao sonora da cena.
No intuito de pesquisar outros sons de qualidades especficas produzidos por
instrumentos, foram coletados pelos atores objetos sonoros que pudessem ser manipulados
por eles. Objetos sonoros e os sons dos fenmenos da natureza [o som das gotas de gua
caindo, por exemplo] tm uma textura diferenciada quanto as suas qualidades sonoras. Visto
isso, foi vlida a experimentao com materiais sonoros, visando a ampliao da vivncia
tanto vocal [a partir da escuta da textura sonora de objetos], como tambm a expanso da
percepo do ator em relao s possibilidades de interao entre fala, canto, msica e
sonoplastia durante a composio da Ambincia Sonora na Cena.
Cada ator foi solicitado, nesta etapa da experimentao, a trazer objetos sonoros que
fizessem referncia sonoridade do ambiente martimo. Sendo assim, a improvisao com
73
materiais sonoros tinha uma delimitao de campo semntico, o que possibilitou a busca de
metforas sonoras, ampliao e explorao das possibilidades de uso dos mesmos.
Os atores trouxeram objetos constitudos de materiais com sonoridades diversas: rede
fina de pesca, bacia metlica, arroz, lata de tinta, pedao de cano PVC, pedras de variados
tamanhos, saco plstico, sino, tonel, ossos de peixes, corrente de ferro, corda de navio, sapato
velho. No primeiro momento deste encontro, foi solicitado que os atores pesquisassem
livremente as possibilidades sonoras dos objetos espalhados pela sala, explorando as suas
qualidades sonoras. Em seguida, foi pedido que percebessem as diferentes propriedades
contidas num mesmo objeto sonoro: a diferena de timbre, de altura, durao e intensidade. A
partir da pesquisa das variaes das dinmicas dos sons, foram criadas sonoridades que
originaram a ambincia sonora martima: arroz caindo em uma lata remeteu gua do mar
batendo nos rochedos; o manuseio de gua em uma bacia trouxe a presena da gua
propriamente dita; o sopro em um cano PVC representou a buzina de um navio anunciando a
sua chegada; a rede de pesca girada com velocidade trouxe o som do vento; um sapato
arrastado contra o cho, pedrinhas, um saco plstico tornaram presentes os rudos do mar.
Paisagens sonoras foram criadas dentro do propsito do ambiente martimo: ora a
evocao do mar pelos atores era mais catica por meio da interao dos variados objetos
tocados em forte intensidade, ora a evocao do mar parecia mais suave e tranqila, por meio
de uma criao coletiva com sons em fraca intensidade, o que permitia uma mais cuidadosa
discriminao auditiva dos atores em relao aos outros sons do ambiente de criao. Sendo
assim, diferentes atmosferas sonoras foram criadas, impulsionadas pelas impresses sonoras
oriundas da imaginao de cada ator que reagia quela textura sonora gerada pelo dilogo
sonoro do corpo coletivo, por meio dos objetos tocados por eles.
74
Outro ponto experimentado a partir da utilizao de objetos foi a relao dos mesmos
com o corpo-vocal dos atores. No se tratava de apenas executar sons com os objetos;
traando paralelo com o som vocal, cuja qualidade est em relao com o estado de tenso e
com a dinmica de movimento do nosso corpo no momento da emisso, foi solicitado aos
atores que buscassem gerar sonoridades nos objetos, experimentando o manuseio destes como
uma extenso do seu prprio corpo.
Fi g ur a 1 3 : Expe r i me nt a o dos a t or e s c o m obj e t os s onor os
75
Fi g ur a 1 4 : O s i l n c i o d a no i t e
76
A utilizao dos objetos como extenso do corpo dos atores, permitiu que, em outros
encontros, fosse possvel coloc-los em relao tambm com sons vocais produzidos,
conjugando voz com objetos sonoros como fonte sonora e criando ambincias, onde a relao
entre o som vocal e o som do objeto era completa, sendo quase imperceptvel a noo de onde
comeava um e terminava o outro.
Os atores imprimiram sentidos em objetos do cotidiano que usualmente no traziam
referncias sonoras. Adquirindo comportamento semelhante ao da criana, criaram um outro
mundo, pela transposio de objetos, para uma nova ordem simblica.
Mundos so criados com objetos comuns, como nas brincadeiras das
crianas e nos jogos improvisados. Estamos lidando com um teatro em um
estgio embrionrio, em meio a um processo criativo no qual o instinto
desperto escolhe espontaneamente os instrumentos de sua mgica
transformao. Um homem vivo, o ator, a fora criativa de todas as coisas
(GROTOWSKI, 1987, p.59).
Como a citao de Grotowski permite refletir, o processo de criao teatral necessita
de pessoas vivas, atentas para as possibilidades que o jogo oferece para ser transformado. O
ator deste processo de criao, como uma criana, precisou alterar o real para atender s
necessidades do contexto de improvisao da cena, criando sonoridades com objetos comuns,
criando outros signos durante o processo criativo.
4.3.3 O texto e o som
Aps a experimentao de algumas imagens sonoras baseadas nas didasclias do texto
O Capataz de Salema e criao de suas ambincias sonoras, foi adicionada a palavra desse
texto ao processo de investigao de A Ambincia Sonora na Cena.
Nesta etapa, chamada o texto e o som, no apenas foram utilizadas as ambincias
sonoras j esboadas como tambm, foram criadas outras ambincias sonoras, estimuladas
pela atuao de duplas falando fragmentos do texto em cena, no intuito de construir a textura
vocal e sensaes das personagens Sinh Ricarda, o Capataz e Luzia.
77
As vocalizaes das falas, as imagens, coloridos e intenes vocais dessas
personagens foram experimentadas, tendo como estmulo, as caractersticas fsicas de uma
determinada ambincia sonora criada, que foi novamente, vivenciada pelos atores que
representavam o mar, provocando assim, sensaes e imagens para a criao corprea-vocal
dos outros atores que representariam Sinh Ricarda, o Capataz e Luzia.
Para melhor clareza e entendimento desta proposta, ser exemplificado o exerccio
realizado com a atriz Mnica Mello, que representou a personagem Sinh Ricarda.
No item 4.2.1 desta dissertao, foi descrito o exerccio que deu origem ambincia
sonora A vida e a morte criada pelo corpo coletivo formado pelos atores. Essa ambincia foi
composta por vocalidades de diferentes qualidades, tais como: choros, murmrios, risadas,
gemidos de dor e de alvio, gritos fortes e fracos, uma voz dizendo me, vem...
Visando ter a ambincia sonora, a vida e a morte, como estmulo para a construo do
corpo-vocal da atriz Mnica Mello, que faria a personagem Sinh Ricarda, foi pedido que ela
experimentasse as inflexes do seu texto a partir da escuta que aquele ambiente provocava
nela, segundo as imagens e sensaes estimuladas pela ambincia sonora. Desta maneira, a
atriz pde construir a qualidade da voz que habitava o seu corpo-vocal, dentro daquele
contexto sonoro [como uma criana que ainda no sabe falar, mas que por meio de uma
contnua relao, percebe o sentido da voz do adulto referencial, mediante a sua variao
meldica e, apesar de ainda no discriminar palavra por palavra, percebe em pleno sentido,
apenas pela qualidade sonora da voz, o que est sendo dito]. A ambincia sonora A vida e a
morte tateou o corpo-vocal da atriz por meio da sua fisicalidade sonora, produzindo sentidos
traduzidos na construo vocal da atriz para dar corpo s palavras do seu texto:
Seis filhos tive, seis flores
Que sobre o mar espalhei [...]
Sonhei
Que uma grande mar subia
At as folhas to altas
Dos coqueiros
(CARDOZO, 2001, p.31-32).
78
Pde-se observar que a ambincia sonora emitida pelo corpo coletivo de atores
tambm mudava com a interferncia das falas do texto da atriz Mnica Mello, gerando uma
interao de reciprocidade, onde os sentidos sonoros encadeavam outras seqncias de
relaes entre os sons que permeavam o ambiente e por sua vez, faziam nascer outros
sentidos. Chamamos essa nova Ambincia Sonora composta pela relao do texto da atriz
com o som do ambiente de O sonho de Sinh Ricarda.
4.4 O CONTATO COM O TEXTO
O processo de criao da Ambincia Sonora na Cena no buscou fidelidade ao
pensamento esttico e ideolgico contido no texto O Capataz de Salema. Quando o mesmo
foi introduzido experimentao dos atores, teve-se a liberdade de no seguir a ordem
cronolgica dos fatos narrados e de experimentar as falas de seus trs personagens por vrios
atores [sem partir do estudo das caractersticas psicolgicas de personagem], favorecendo
assim, a adequao e interao do texto dramtico ao processo de criao. Partiu-se do
princpio de que o texto fazia parte do processo de criao, todavia com abertura para alterar a
sua estrutura.
Grotowski, quando fala sobre a tarefa do teatro em relao literatura, coloca que a
essncia do teatro o encontro: da pessoa consigo mesma, de pessoas criativas se revelando a
partir das relaes estabelecidas, de artistas se defrontando com o texto. Este, se for um
grande texto, oferece mais do que apenas uma nica possibilidade de interpretao,
proporcionando efeito cataltico:
[...]abrem portas para ns, colocam em movimento a maquinaria da nossa
auto-suficincia [...]o texto uma espcie de bisturi que nos possibilita uma
abertura, uma autotranscedncia, ou seja, encontrar o que est escondido
dentro de ns e realizar o ato de encontrar os outros (GROTOWSKI, 1987,
p.49).
O que importou nesta etapa do processo criativo foi a relao estabelecida entre o ator
e o texto, a investigao de como cada um deu vida palavra e a transformou na sua palavra
vocalizada. Sendo assim, no laboratrio prtico, buscou-se a extenso dos sentidos da palavra
no exerccio da cena, por meio da ampliao das potencialidades de voz e da fala articulada
do ator. Abandonou-se o sentido das palavras dentro do contexto frasal apresentado no texto,
esmiuando-se as mesmas no intuito de traz-las para uma respirao do presente, oferecendo
79
e recebendo um sentido vivo na cena, impulsionado pelo momento da criao. Foram os
seguintes os exerccios realizados nesta etapa:
4.4.1 A sonoridade de cada fonema
Buscou-se, neste exerccio, algumas palavras do texto para serem reduzidas aos seus
pequenos pedaos fonticos e posteriormente remodeladas ao gosto das exigncias vocais e
imagens criadas por cada ator. Para tanto, foram escolhidos grupos de palavras para a
investigao do ator, das sonoridades sugeridas por cada fonema, que posteriormente, foram
novamente formadas pelos sons fonticos trabalhados. A palavra vocalizada tinha a sua
imagem global composta pelos fragmentos imagticos oriundos da experimentao fontica,
gerando assim uma palavra viva, com o seu sentido brotado no ambiente da criao.
As palavras do texto O Capataz de Salema escolhidas nesta etapa do trabalho foram
as seguintes:
Da minha triste boneca/ Senti sua alma voando/ No vo dos passarinhos[...]
No ignoras, certamente,/ Que a mulher como terra:/ E como terra
me[...]
No dia seguinte, quando/ Olhei da porta o lugar/ Do seu ltimo cantinho,/ Em
terra do cu chovida/ Por chuva de noite inteira [...]
Por que ento a mim no queres/ Que eu, para ti, seja ao menos/Um corpo que
vem do mar[...]
o mesmo vento que planta/ A morte e a fome no ar/ Nestas esquecidas
praias/ De pescadores sem lar[...]
(CARDOZO, 2001, p.26, 27, 28 e 41, grifo nosso).
Os atores no tiveram acesso ao vocbulo como um todo visual e semntico em um
primeiro momento. Os fonemas foram escritos no quadro aos poucos, utilizadas cores
variadas para a escrita dos mesmos e em tamanhos diferentes de letras, para que cada
participante do laboratrio fosse esmiuando e experimentando em seu corpo-vocal cada
fonema e descobrindo o espao de ressonncia, a cor, o timbre e a dinmica de movimento de
cada um dos fonemas trabalhados.
80
Inicialmente, os atores tiveram acesso informao lingstica quanto aos traos
distintivos principais que acompanham cada fonema, em relao aos ajustes musculares do
rgo da fonao, para cada som da fala, sendo eles:
a) As vogais:
No apresentam obstruo sada de ar; so todas sonoras; variam em relao ao grau
de abertura da boca, possuem variaes de timbre, e, de acordo com Oliveira (1997, p.69), as
vogais[...] representam, por si s, uma das manifestaes sonoras mais ricas e ressonantes do
ser humano. A acstica, bem como a articulao de cada uma das vogais, permite uma
percepo sonora e rica de contedo emocional daquele que vocaliza. Importante observar
que toda expresso sonora de dor e de prazer vocalizada com vogal oral e/ou nasal.
b) As consoantes:
Em geral, as consoantes so descritas especificando-se a zona articulatria onde ocorre
a obstruo passagem de ar e o modo que impulsionada a corrente de ar. Quanto a zona de
aproximao dos articuladores as consoantes podem ser classificadas como: bilabiais( quando
os lbios se encontram)- /p/, /b/,/m/; labiodentais( quando o lbio inferior vai ao encontro dos
dentes superiores)-/f/, /v/; linguodentais( quando a lngua toca a parte posterior dos dentes
superiores)- /t/,/d/,/n/,/r/,/l/; entre outras.
Quanto ao modo de articulao, as consoantes podem ser plosivas /p/,/b/,/t/,/d/,/k/ e
/g/, caracterizando-se pela aproximao dos articuladores seguida de um estouro repentino. J
as fricativas /f/,/v/,/s/,/z/,// e // tm aproximao incompleta dos rgos da boca e possuem
um som constante, como um sibilo e frico, sendo mais alongadas e flexveis.
A l a V o
m D U
Fi g ur a 1 5: O c or po do s f on e ma s
81
Mesmo dentro dessas duas categorias de modo de articulao, sem mencionar a
terceira categoria onde estariam as lquidas, pode-se ainda dividir os fonemas consonantais
em surdos e sonoros, nasais e orais
7
. O que interessou no processo de pesquisa foi aguar nos
atores a percepo a respeito da dinmica de movimento de cada fonema. No se buscou
fechar os padres fonticos da lngua portuguesa, mas principalmente permitir que cada
participante experimentasse os seus processos de ajustes musculares para cada fonema e
percebesse como este movimento agia fisicamente no corpo-vocal, por meio da melodia, do
ritmo, da livre passagem ou obstruo da corrente area, sugerindo, por exemplo, dinmicas
de qualidades cortantes, pontuadas, rpidas, lentas, sinuosas, contnuas ou curtas, leves ou
pesadas.
Os atores esmiuaram cada fonema que ia sendo colocado no quadro, gerando aes
vocais para eles, vitalizando e corporificando a palavra que estava sendo construda, atravs
da experimentao e conscincia dos movimentos fisiolgicos dos fonemas que estavam
sendo constitudos.
O sentido da palavra nasceu da voz por si mesma: o som encantava, trazendo
sensaes e imagens unicamente pela sua composio sonora de tom, intensidade, timbre, sua
musicalidade e relao com o ambiente.
A combinao desses parmetros em cada fonema, somados tambm sobreposio
de sons adjacentes resultou numa mistura de efeitos, que trouxe vida para a fala encadeada,
por meio das sensaes e da associao imaginativa experimentadas fisicamente, construindo
e transformando os significados das palavras em imagens sonoras.
Ao final do exerccio, cada ator tinha um conjunto de palavras preenchidas por
imagens sonoras que foram ligadas pela sua percepo da frase como um todo [como, por
exemplo, Alma voando]. Foi como se, neste momento, se colocasse uma ordem para
7
Uma c l a s s i f i c a o ma i s de t a l h a da e c omp l e t a pode s e r a dqui r i da e m l i v r os de
f on t i c a c omo : RUSSO, I e d a ; BEHLAU, Ma r a . Pe r c e p o d a Fa l a: An l i s e
Ac s t i c a do Po r t ug u s Br a s i l e i r o . S o Pa ul o : LOVI SE, 1 993 .
82
construo sintagmtica no fluxo de imagens levantadas no exerccio de experimentao de
cada fonema.
No livro A arte de ator, Burnier explica como acontece o processo de montagem de
partituras, no mbito do Lume, compondo pedaos de aes fsicas e relata sobre a
importncia das ligaes entre cada trecho construdo:
Na primeira fase da montagem, essas aes so consideradas materiais
significantes para a composio da obra, ou seja, objetos modelveis. Num
segundo momento, deve-se considerar a maneira como se operacionalizam
as ligaes entre as aes colocadas lado a lado, ou fragmentadas. quando
entram em campo os ligamens, pequenos elementos de tempo ou partculas
de aes que colam, viabilizam a unio entre aes. Os ligamens so de
extrema importncia, pois em grande parte so responsveis pela
organicidade, por criarem os canais que permitem que o fluxo de energia
circule de maneira equivalente ao da vida (BURNIER, 2001, p.174).
A imagem de cada fonema foi moldada a partir da sua juno a outro fonema na slaba
da palavra; depois a mesma foi adaptada ao encadeamento silbico da palavra e, por fim, as
palavras se restauraram no contexto da frase. A construo sonora da expresso Alma voando
foi feita como se tivesse sido construdo um mosaico oriundo da experimentao da dinmica
sonora de cada fonema, que depois foi lapidado e ganhou um outro sentido no contexto da
frase.
Cada frase ganhou uma vida singular, uma vez que foi investigada por atores
diferentes. Pde-se observar este fato, pelo resultado sonoro criado para a expresso Alma
voando, trabalhada por trs atrizes. Essa mesma frase trouxe trs sentidos e imagens
diferentes, por meio do tipo de emisso e gestos que acompanharam a investigao de cada
atriz, apresentando-se de maneiras variadas: com intensidade suave, intensidade forte,
articulao silabada, articulao desacelerada, efeito na voz de tremor e com diferentes
relaes de projeo no espao [ora em uma projeo mais intimista, como se falasse consigo
mesma, ora em um espao global, como se projetasse a voz para o mundo].
83
4.4.2 A primeira leitura do texto
Aps o trabalho com os atores, durante a primeira etapa [intimidade do corpo coletivo]
e incio da segunda etapa [matrizes de identificao e fragmentos imagticos do texto,
relatado no item anterior], j havia um ambiente de criao e campo de investigao instalado
no laboratrio de pesquisa com os atores. Sendo assim, foi realizada pelos atores a primeira
leitura do texto O Capataz de Salema, no apenas para estimul-los para criao em relao
s suas paisagens e sugestes sonoras, mas tambm para ouvir dos atores o que eles tinham a
dizer sobre suas relaes com o universo potico de O Capataz de Salema.
O encontro para a leitura do texto foi dividido em dois momentos: a preparao para a
leitura e as impresses dos atores sobre o texto.
a) Preparao para a leitura
O aquecimento realizado neste dia foi direcionado com o objetivo de conduzir os
atores para a introspeco; estes foram estimulados a voltarem-se para os seus espaos
internos, mantendo os olhos fechados, percebendo a organizao estrutural do corpo [ossos,
espaos entre articulao, peso, tamanho], experimentando as suas extenses vocais em fluxo
por todo o corpo, desde o exerccio inicial de vibrao para aquecimento das pregas vocais
[brrrrrr] at os sons criados livremente pelos atores.
Visando conduzir a imaginao dos atores para a leitura, foi proposto um exerccio de
aquecimento imagtico, que serviu tambm para a percepo do imaginrio de cada ator,
verbalizada no momento seguinte.
O exerccio foi feito da seguinte maneira: foram selecionadas palavras que no
necessariamente estavam presentes no texto, mas que remetiam s metforas contidas no texto
O Capataz de Salema: amor, mar, famlia, morte, anjo, dor, perda, medo, priso. Foi pedido
aos componentes do grupo que trouxessem imagens para cada uma dessas palavras, fazendo
surgir um gesto que simbolizasse a palavra ouvida.
84
Outro exerccio realizado para estimulao de um pensamento imagtico pelos atores
foi: em dupla, um componente da dupla indagou o parceiro a responder situaes, s
possuindo uma nica palavra como possibilidade de resposta e criao de sentido; o parceiro
que respondia, com os olhos fechados, criava diferentes imagens e as vocalizava, partindo
desta nica palavra escolhida para experimentao.
Com esse exerccio explorou-se diversas possibilidades de sonorizao e criao de
sentido, partindo de variaes imagticas que podem compor uma nica palavra.
Foram escolhidas essas palavras do texto para investigao:
Houve uma vez grande seca
Que do alto serto nos veio;
[...]
Dos cajueiros as flores
Murcharam [...]
E quanto a terra sofria!
E quanto terra faltava:
Dentro em si tudo morria
(CARDOZO, 2001, p. 28-29, grifo nosso).
Esse exerccio foi feito com todas as palavras grifadas no trecho acima; em seguida, os
atores leram esse pedao do texto escrito no quadro mantendo as imagens criadas. A proposta
teve como objetivo no apenas aguar o imaginrio dos participantes para a leitura do texto,
como estimular a conscincia do ator em relao necessidade que tem a palavra de estar
acompanhada por uma imagem para existir ao vocal na cena.
b) Impresses dos atores sobre o texto
Aps a preparao para a leitura, foi realizada a leitura propriamente dita de O
Capataz de Salema, onde todos participaram, sem haver diviso de personagem. Quanto aos
atores, assim expressaram-se acerca das impresses surgidas no primeiro contato com a
totalidade do texto dramtico de Joaquim Cardozo:
85
Abaixo de Deus s o mar. O mar nunca te d confiana.
(Depoimento do ator Psit Mota).
Ir para a angstia humana, para o desconhecido. tudo profundo
(Depoimento do ator Roberto de Brito).
Trs mundos que no se misturam, sem alegria
(Depoimento do ator Bira Freitas).
Mistrio, relao de famlia, solido, transformao, morte como
renovao do ciclo
(Depoimento da atriz Norma Suely).
Sinh Ricarda me lembra uma velhinha, l de Canavieiras, que
nunca sai de casa desde que o marido morreu
(Depoimento do ator Psit Mota).
Quem liga os personagens o mar
(Depoimento da atriz Monize Moura).
J parou para escutar o som dentro do bzio? Tem o som do mar
(Depoimento da atriz Genifer Gerhardt).
O mar enquanto eco e ego
(Depoimento do ator Roberto de Brito).
Tragdia grega numa paisagem brasileira
(Depoimento do ator Roberto de Brito).
Tem palavras da minha infncia l em Canavieiras : O mangue,
o mistrio do mar, o respeito pelo vento
(Depoimento do ator Psit Mota).
As informaes verbais dos atores foram importantes para o conhecimento das suas
impresses imaginrias e histrias de vida e para continuar alimentando a conduo do
processo de criao; por meio das novas idias levantadas pelos participantes, fortaleceu-se
assim, o processo de criao da Ambincia Sonora na Cena, construdo a partir do que cada
ator trazia para o laboratrio.
A liberdade proporcionada em colocar no apenas Joaquim Cardozo, mas tambm
todos os envolvidos no processo de criao como autores, colaborando com a criao do texto
da cena, possibilitou a investigao e descobertas de sonoridades alm das sugestes de
encenao. A pesquisa no teria a mesma eficincia acerca do processo de criao fincado na
86
aprendizagem e ampliao da linguagem do ator, se o processo fosse conduzido conforme os
mecanismos tradicionais, onde o entendimento das razes discursivas e psicolgicas do autor
dramtico so os pontos de partida da investigao da cena teatral. Nesta pesquisa, o sentido
da palavra oriundo do estudo do texto foi quebrado, possibilitando a explorao de campos
poticos de infinitas possibilidades sonoras e, portanto cnicas.
Aps este encontro, os atores devolveram os seus exemplares do texto; referendava-se
assim, a proposta de que a construo da sonoridade de O Capataz de Salema no fosse feita
individualmente, mas sim fosse intermediada pela prtica da experimentao.
4.5 A CONSTRUO DE ESTADOS CORPORAIS
Queremos fazer do teatro uma realidade na qual se possa
acreditar, e que contenha para o corao e os sentidos esta
espcie de picada concreta que comporta toda sensao...
(ARTAUD, 1999)
Em todos os encontros, foram realizados exerccios que visaram a construo de
determinados estados corporais, com objetivo de estabelecer condies adequadas para a
manifestao plena da voz na cena teatral.
Em situaes espontneas do cotidiano, a pessoa age e reage intuitiva e
espontaneamente, ativando o seu corpo-vocal em relao ao contexto vivenciado em tempo
presente. O corpo muda o seu estado fsico, ou seja, sofre modificaes tnico-posturais a
depender da interao que estabelece com o ambiente. O funcionamento anatomo-fisiolgico
da voz est de acordo com os sinais percebidos pelo corpo, provenientes do ambiente,
estabelecendo modificaes no nvel de energia que determina o modo de projeo vocal no
espao. O estudo de anatomia funcional de LE HUCHE e ALLALI (1999) traz exemplo
prtico relacionado s mudanas de estado ocorridas no corpo [tnico-posturais, motoras e na
rea da elocuo], em situao espontnea do cotidiano:
Algum espera o nibus em p, mas numa postura relaxada de
descanso, passando de tempos em tempos o peso do corpo de um para
outro p, ou talvez encostando-se em um poste. De repente, essa
pessoa avista na calada do outro lado da rua algum que ele precisa
87
chamar de qualquer maneira. Antes de lanar o chamado, sua postura
muda: ela orienta intensamente o olhar na direo da pessoa e
endireita-se, abandonando qualquer apoio acessrio para firmar-se
sobre ambos os ps (L HUCHE e ALLALI, 1999, p.257).
Se for pedido para essa pessoa do ponto de nibus que reproduza novamente a ao
corporal-vocal que realizou, ela responder que no pode faz-lo sem motivo e que precisar
de uma oportunidade igual para reconstruir a ao.
O corpo muda de estado cada vez que percebe o mundo e a partir da experincia que
o esquema e a imagem corporal so formados.
Esquemas corporal e corporal-vocal compreendem a imagem perceptual,
isto , a apreenso feita pelos sentidos de todos os componentes de um
espao dado e o controle interno e externo do prprio corpo e da voz em
suas relaes com o meio ambiente (BEUTTENMLLER; LAPPORT,
1974, p.29).
Neste laboratrio prtico, foram criadas situaes diversas, onde os atores pudessem
experimentar o funcionamento do seu corpo-vocal em diferentes situaes, proporcionando
assim mudanas em seu estado corporal-vocal e percepo do mesmo, promovendo para o
ator conscincia e ampliao das possibilidades vocais no ato do movimento.
A experimentao tcnica para a cena partiu da observao do corpo-vocal em
situao cotidiana, onde o corpo, na maioria das vezes, age ajustando suas funes
emocionais, neurovegetativas e tnico-posturais em relao ao contexto apresentado pelo
ambiente. No laboratrio da Ambincia Sonora na Cena, os atores vivenciaram situaes de
jogo, em que uma determinada energia corporal-vocal foi necessria para a atuao no
ambiente, trazendo a necessidade de agir e reagir com os corpos por meio de uma
determinada energia de projeo. Portanto, foi da vivncia em situao de jogo que nasceu o
conhecimento de rgos internos e do estado corporal sentido e percebido pelos atores
naquele momento.
No laboratrio prtico desta pesquisa, foi pensado, para cada encontro, na ativao de
uma energia indutora de estados corporais-vocais, criando assim um ambiente favorvel para
que a palavra fosse explorada nas suas diversas possibilidades de registros vocais ganhasse.
88
Segundo o Dicionrio Houaiss, energia fora, vigor; a capacidade que um corpo, uma
substncia ou um sistema fsico tm de realizar trabalho. No entanto, no se pode confundir
fora e vigor com grande quantidade de fora de trabalho, uma vez que a energia pode ser
suave e sutil.
Em nvel perceptivo, parece que o ator trabalha com o corpo e a voz. Na
verdade, trabalha sobre algo invisvel, a energia. O ator experiente aprende
a no associ-la mecanicamente ao excesso de atividade muscular e
nervosa, ao mpeto e ao grito, mas sim a algo ntimo, que pulsa e pensa na
imobilidade do silncio, uma fora- pensamento contida que pode
desenvolver-se no tempo sem desdobrar-se no espao (BARBA, 1995,
p.94).
A energia trabalhada em cada encontro era inicialmente instalada no ambiente por
meio da qualidade de msica escolhida para cada encontro e tambm, pelo tipo de movimento
utilizado durante o aquecimento para o processo de criao da Ambincia Sonora.
A energia trabalhada em cada encontro baseou-se na percepo de climas, sensaes e
emoes presentes no texto O Capataz de Salema que serviriam para a experimentao dos
atores em situaes de investigao coletiva. Uma vez selecionados esses trechos do texto,
foram escolhidos aquecimentos corporais-vocais especficos, jogos para a criao e msicas
que favorecessem a criao daquela Ambincia Sonora.
Ser relatado o processo de conduo de dois encontros, que tiveram como guia a
energia da terra para a construo de exerccios corporais-vocais chamados, respectivamente;
a energia terra e a energia do combate.
4.5.1 A energia terra
Neste encontro, foi solicitado inicialmente aos atores que criassem, em grupos de trs,
situaes onde um tivesse que preencher os espaos vazios do corpo do outro; ou seja, pelo
movimento um se ajustava ao corpo do outro. Durante o exerccio, os participantes
disponibilizavam as articulaes do seu corpo, percebendo as situaes para impulsionar as
palavras do texto que receberam no incio da proposta. Alm do aquecimento psicofsico, o
objetivo deste momento inicial era tambm fazer com que o texto fosse memorizado a partir
89
do jogo, possibilitando que nas etapas seguintes pudssemos trabalhar com palavras
memorizadas, liberando assim os atores para perceber e responder aos estmulos do ambiente.
As falas escolhidas foram anotadas e destacadas em negrito em um pequeno papel
avulso para cada ator, como falas soltas, sem que se soubesse a que parte do texto pertenciam.
As atrizes tiveram acesso a fragmentos em negrito da fala de Luzia, enquanto os atores
trabalharam com os fragmentos do texto do capataz:
Luzia O que que queres de mim?
Porque me falas de amor?
Por que me pedes, por que
Falas de mim como flor?
Sou terra profunda e seca,
s o mar claro e presente.
Sou terra escura e constante
s o mar independente
(CARDOZO, 2001, p.25).
Capataz s a terra, s a mulher
Que na sombra quer ficar;
Mas na sombra que procuro
Ests, e na sua paz
Quero dormir, descansar
(CARDOZO,2001,p.25).
Neste primeiro exerccio inicial, os atores assim expressaram as suas impresses:
A dificuldade em passar por debaixo de Roberto, trouxe-me a
imagem de estar sendo esmagada, pisada...
(Depoimento da atriz Marita Ventura).
muito rico improvisar, estimulado pela vozinha do outro
(Depoimento da atriz Genifer Gerhardt).
Neste mesmo encontro, mantendo-se a energia terra, a segunda proposta foi o
movimento do nascer e do parir, onde em dupla, numa seqncia contnua, os atores ora
pariam, ora nasciam, pesquisando maneiras de passar por entre as pernas do parceiro e de
ser puxado para cima por quem estava na posio de parir. Foi experimentado tambm o texto
com essa movimentao e inteno.
90
Este encontro foi ambientado pelo cd do msico Wakay composto de sons indgenas
com um ritmo forte de pulsao de tambor. Foi solicitado tambm que os atores ouvissem a
msica e as duplas interagissem, danando e tambm vocalizando palavras impulsionadas
pelo movimento de lanar os bastes. Nesta proposta, os participantes do laboratrio foram
orientados a manter a bacia pesando para baixo e a se movimentarem explorando o corpo nos
trs nveis (alto, mdio e baixo), liberando um som a partir do impulso do lanamento do
basto. A ambincia sonora criada apresentava sons de forte intensidade, penetrantes,
precisos, apresentando curva meldica curta e com valorizao das caixas de ressonncia mais
baixas do corpo.
4.5.2 A energia do combate
No mesmo encontro, aproveitando o estado corporal-vocal conseguido com a energia
terra, foi ensinado para o grupo uma partitura com o basto, composta por um seqncia de
preparao para o ataque e de ataques com o basto. Esta seqncia foi nomeada partitura do
combate.
Para que a partitura fosse automatizada e para que os participantes que tinham menos
tnus na movimentao recebessem a interferncia do estado corporal de quem tinha mais
tnus, foi pedido que fizessem a partitura em dupla, ocorrendo uma espcie de contaminao
da energia de um ator no outro. A cada ataque foi sugerido que se liberasse um som
impulsionado por um fluxo areo forte, pensando na fisiologia da voz de grande intensidade
impulsionada pela musculatura abdominal.
Foi dada continuidade ao exerccio, porm sem o uso do basto, com a indicao de
manuteno do estado corporal conseguido quando estavam utilizando o basto e alternando a
vocalizao, ora emitindo som inarticulado, ora palavras do texto [referidas no incio do
encontro].
O exerccio da energia do combate seguiu visando trazer momentos que os atores
pudessem registrar para a posterior constituio de uma clula de movimento. Durante as
interaes, os participantes do grupo foram solicitados a congelar o corpo em uma
determinada ao e perceber as sensaes provocadas por aquele estado corporal [respirao,
temperatura corporal, focos de tenso e distenso, postura]. O exerccio, realizado utilizando o
91
comando congela, foi seguido com a indicao para que os atores buscassem a visualizao de
uma imagem partindo de cada pausa dada ao movimento, seguido da liberao de uma palavra
que surgisse a partir daquela imagem, no momento de suspenso do movimento.
Finalizando o processo de criao proposto para esse encontro, foi pedido que cada um
resgatasse, desde o incio do encontro com os exerccios de aquecimento at aquele momento,
as imagens mais significantes para composio de uma clula de movimento sonoro que
pudesse ser repetida, objetivando fazer com que os atores buscassem ter conscincia do que
estavam fazendo.
A organicidade vivida durante o momento da improvisao foi sentida outra vez, por
meio da repetio da clula criada. A repetio mudou, mostrou novas situaes, enriqueceu e
aprofundou todo o vocabulrio construdo.
Durante todo o laboratrio prtico, em todos os momentos em que os atores foram
solicitados a liberar um som do corpo a partir do estado corporal em que se encontravam,
todas as emisses eram de vogais: orais, nasais, tremidas, aspiradas, tensas, entrecortadas,
misturadas, porm sempre vogais. Esta constatao traz reflexes acerca do fato de que, tendo
o exerccio partido das alteraes musculares ocorridas no corpo [ou seja, trazendo mudanas
nos estados corporais] e sabendo tambm que a emoo acontece associada manifestaes
corporais [e que da natureza do ser humano dar sentido, criar imagens para tudo o que
vivenciado], pode-se inferir que os atores partiram de um estado corporal concreto para a
experimentao; sendo assim, os sons emitidos foram liberados como um jato de um corpo
quente, lanados para fora por meio de possibilidades vocais que no obstrussem a passagem
de ar.
As vogais caracterizam-se por serem ricas em ressonncia, no apresentarem
obstculo passagem de ar e com vibrao das pregas vocais. Mesmo, quando os atores j
tinham os seus textos e foram solicitados a dizer o texto com outros sons, como em outra
lngua, no emitiram sons consonantais, nem uma vocalizao como o exerccio que
bastante conhecido pelos atores chamado gromel
8
. Durante toda a improvisao
8
Termo inventado por Dario Fo que designa um conjunto de sons articulados imitando lnguas diversas.
92
desenvolvida ao longo do processo de criao, os atores s emitiram sons voclicos, com
sons inarticulados.
4.6 DAS PERSONAGENS QUE SOU - O FLUXO DE IMAGENS
Aps experimentao e levantamento de material sonoro durante o laboratrio, cada
ator foi solicitado a registrar no dirio de bordo todas as imagens e sensaes significativas
em relao aos estados vocais-corporais, qualidades vocais emitidas, imagens e gestos que
estava executando e tambm as imagens que no estava vivenciando, mas gostaria de resgatar,
ao longo da sua atuao no esboo de roteiro feito para repetio de algumas ambincias
criadas e nomeadas durante o processo de criao, sendo elas: o silncio da noite, Luzia e o
masculino, o canto da lua e o canto lgubre.
O objetivo desta etapa foi perceber como o ator estava se apropriando dos jogos de
criao sonora, como fazia para obter conscincia corporal-vocal daquilo que estava sendo
criado e qual o sentido dado por cada ator sua atuao em cada ambincia, uma vez que no
partimos do estudo do texto para compor a sonoridade do mesmo.
O processo de criao da sonoridade da cena foi estimulado pela integrao do
movimento vocal ao movimento corporal. Foi pela percepo dos movimentos de partes do
corpo que os movimentos vocais ganhavam forma no corpo do ator e no ambiente e dessa
maneira tambm, este se conscientizava de que a voz faz parte do corpo, est em relao com
a atitude corprea no momento da emisso e de que movimento sonoro no corpo e no
espao.
Durante o laboratrio, foi observado que, apesar do foco de experimentao estar
concentrado no processo de criao da sonoridade realizada pelos atores, o mesmo tinha a
presena de gestos corporais precisos acompanhando a sonoridade da cena. Existia uma
relao de reciprocidade entre a sonoridade e os gestos dos atores e uma integrao de
estmulos auditivos e visuais compondo a ambincia. Esta observao permite uma
aproximao dos experimentos deste laboratrio aos estudos sobre a composio dos
espetculos meyerholdianos:
93
Cada palavra se atualiza no movimento (imagem transmitida pelo corpo do ou
dos atores), na imagem de conjunto (composio global do jogo de cena) e na
esfera sonora que trabalha essa imagem em contraponto (PICON-VALLIN,
1946, p. 85).
A voz foi experimentada no processo de criao como movimento sonoro, agitando as
partculas de ar do ambiente e repercutindo nos corpos de maneiras variadas, a depender da
intensidade e freqncia de vibrao no meio propagado. Por isso, foi experimentado o corpo
em movimento, objetivando descobrir ritmos, melodias, timbres e aes vocais nos atores em
relao, compondo a ambincia sonora da cena.
A presena do corpo em ao foi essencial para este processo de criao, os atores
necessitavam do corpo atuando em tempo real para resgatar as ambincias sonoras criadas.
Em um encontro, foi proposta a leitura das partes j trabalhadas do texto O Capataz de
Salema, mantendo as vocalizaes descobertas durante o processo de criao, no intuito de
restituir as falas e melhorar a preciso tcnica dos atores. vlido pontuar que esta tarefa no
foi possvel ser executada, visto que, segundo relatos verbais dos participantes do laboratrio,
eles no conseguiriam resgatar as vocalizaes sem estar com o corpo em movimento, assim
como faziam durante os exerccios do laboratrio.
Tal fato aconteceu devido a dois fatores: primeiro, no se partiu de um trabalho de
mesa e anlise de texto, como ponto de partida para o processo de criao do ator, visando um
entendimento do texto, dos tipos de relaes, maneiras de agir, contextos e caractersticas
psicolgicas das personagens para a construo vocal dos atores; segundo, a necessidade do
grupo estar em relao sonora concreta na cena em tempo real era necessria para resgatar a
sonoridade, uma vez que o andamento ficcional do laboratrio da Ambincia Sonora na
Cena no estava escrito no texto do autor Joaquim Cardozo, era um outro andamento,
baseado no fluxo de imagens do texto que nasceu do processo de criao.
94
Figura 16:
As razes dos dedos das mos
95
No decorrer dos encontros, os jogos de improvisao geraram ambincias sonoras
cujos sentidos surgiam em conseqncia da composio das vozes dos atores com os objetos
sonoros e tambm da combinao de gestos corporais desenhados na cena. O texto O
Capataz de Salema serviu de passagem para o processo de criao e, no decorrer do
desenvolvimento do laboratrio, o processo de criao se apropriou do texto de Joaquim
Cardozo, dando relevncia para o outro texto que nasceu da experimentao do processo de
criao da Ambincia Sonora da Cena. Desta maneira, foi estabelecida uma relao onde o
texto no conduzia totalmente o processo de criao, o que possibilitou a apropriao das
falas dos trs personagens de O Capataz de Salema por outros personagens que surgiram
durante o processo de criao dos atores.
A autonomia do ator como criador do seu processo de investigao da cena e de
personagens traz pontos de encontro com a concepo de ator no teatro meyerholdiano:
[...]Meyerhold elabora a teatralidade em torno do prprio ator, ou,
mais precisamente, do ator trabalhando, do ator como criador-
produtor, segundo a terminologia dos anos 1920 - de uma nova
realidade. Procurando, pelo desenvolvimento da encenao,
estabelecer tanto o valor artstico do teatro-contestado ardorosamente
por algumas pessoas no incio do sculo - quando a autonomia desta
arte em relao literatura (o drama-livro), ele descobre todas as
dimenses da arte do ator, que no deve nem reproduzir nem imitar,
nem recriar, porm criar (PICON-VALLIN, 1946, p.26-27).
Mesmo em um laboratrio de A Ambincia Sonora na Cena as personagens criadas,
ainda assim, se aproximam das personagens do texto O Capataz de Salema, uma vez que a
mediao do laboratrio foi baseada na potica percebida pela dramaturgia do autor Joaquim
Cardozo, somadas ao desejo de investigar como potencializar a sonoridade da cena instalada
pelo ator. Sendo assim, dados luz, os personagens criados perpassavam o texto. A fora
potica que surgiu do gesto vocal do ator, partindo das imagens em ao estimuladas pelo
acaso da improvisao, ganhando voz a partir das aes dessas imagens no ator e na cena
durante o processo de criao da cena, percebido pelas relaes estabelecidas e tambm, pela
singularidade expressiva de cada participante do laboratrio criou-se outro texto.
96
Fi g ur a 1 7 : O ho me m q u e p a s s a p e l o t e mp o u s a nd o o ma r c o mo s e u
n i c o c a mi n ho!
97
No intuito de tornar consciente, ou seja, de trazer para os atores a possibilidade de
repetio de algumas imagens [sonoras e visuais] surgidas no processo de criao da
Ambincia Sonora na Cena [que como foi percebido e verbalizado, estavam totalmente
atreladas ao fazer na cena], comeamos a repetir algumas ambincias e a dar nomes para as
mesmas, traando um caminho de ligao entre as ambincias e um andamento para a
apresentao do fluxo de imagens no corpo-vocal dos atores.
Foram nomeadas as seguintes ambincias: o silncio da noite; quem bate; Luzia e o
masculino; o canto lgubre; Luzia Terra; o sonho de sinh Ricarda; pesqueiros do cu; Luzia
s; a grande seca; o capataz acalenta Luzia; o mar derrama; o amor castigado; para muito
alm; o pressentimento; vento terral.
Uma vez rascunhado o roteiro, partindo do que tinha sido criado e experimentado com
a repetio das ambincias pelos atores, foi necessrio perceber com mais detalhes o que se
passava na imaginao de cada um, objetivando distinguir e realar algumas referncias
sonoras da ambincia e, tambm, evidenciar melhor as relaes estabelecidas entre os atores,
para que a etapa de improvisao fosse finalizada. Para concluso deste momento, foi pedido
que cada ator escrevesse uma carta descrevendo as qualidades sonoras emitidas ao longo do
percurso das ambincias, narrando tambm o fluxo de imagens criadas ao longo da sua
vivncia em cada ambiente.
O que foi percebido nos manuscritos, foi que o processo de construo da Ambincia
Sonora na Cena possibilitou a criao de personagem ou de personagens vivenciados por um
mesmo ator no decorrer das ambincias.
O ttulo escolhido para este tpico da dissertao, Das personagens que sou, foi
retirado do manuscrito da atriz Genifer Gerhardt, quando relata sobre o percurso do seu
corpo-vocal ao longo das ambincias. O que chamou a ateno nesse ttulo foi como a atriz
analisou e sintetizou a maneira como se relacionou e encarnou as imagens criadas durante o
processo de criao e a liberdade com que se apropria da idia de no construir uma
personagem seguindo uma linha de lgica psicolgica, mas sim expondo traos de
personagens que ganham vida unicamente pelo ato da atriz vivenciar as suas imagens em um
determinado contexto. Nesse processo de criao da Ambincia Sonora na Cena, ao
encarnar as suas imagens o ator, era o autor de seus personagens.
98
Fi g ur a 1 8 : Do s p e r s on a g e n s qu e s ou Uma f a g u l h a do ma r qu e c h or a
99
Os manuscritos dos atores para esta etapa mostraram que cada um criou um modo para
fixar no seu corpo as sensaes e imagens vivenciadas no processo de criao e as associou de
maneiras diversas. A atriz Genifer Gerhardt criou vrias personagens que surgiram ao longo
das ambincias criadas; foi pela mudana de estado corporal-vocal, mudana da relao de
jogo com os outros atores e tambm com os diferentes objetos sonoros utilizados, que a atriz
significou cada gesto vocal e corporal realizado.
Observando as passagens do manuscrito do ator Jefferson Oliveira e a frase utilizada
por ele para finalizar a sua carta um homem que passa pelo tempo usando o mar como seu
nico caminho pde-se perceber que este criou uma narrativa para dar coerncia ao fluxo de
imagens criadas no laboratrio, construindo assim um personagem. A estria escrita por
Jefferson possuiu liberdade para dar saltos no espao e no tempo e tambm apresentou
possibilidades de transformao do personagem em seres no humanos criados pela sua
imaginao. Apesar deste ator ter construdo, no seu escrito, um nico personagem, este sofre
transformaes ao longo da narrativa.
Analisando o manuscrito da atriz Mnica Mello, percebeu-se que as associaes
criadas por ela, deram relevncia s sensaes que o seu corpo lhe proporcionava,
conscincia do estado tnico-muscular corporal presente em cada contexto. As imagens se
misturaram s sensaes fsicas.
Foram selecionados trs manuscritos dos participantes do laboratrio, para
exemplificar diferentes maneiras de percepo, associao e registro desse processo de
criao, onde todos estavam inseridos no mesmo ambiente:
100
Fi gur a 19: Da s p e r s o n a g e n s que s o u. Fr a gme n t o do ma n u s c r i t o d a a t r i z
Ge ni f e r Ge ha r dt dur a nt e o pr oc e s s o de c r i a o da a mbi nc i a s onor a
Es c o l a d e Te a t r o d a Un i v e r s i d a d e Fe d e r a l d a Ba h i a . Nov . d e 200 5.
101
Fi g ur a 2 0 : Sa l e ma d e u m t e mp o qu a l qu e r . Ma n u s c r i t o do a t o r J e f f e r s on
Ol i v e i r a d u r a n t e o p r o c e s s o d e c r i a o d a a mb i n c i a s o n o r a c o mo
p o t i c a c ni c a .
102
Fi g ur a 21: O ma r de r r a ma . Ma nus c r i t o da a t r i z Mni c a Me l l o
d ur a n t e o p r o c e s s o d e c r i a o da a mbi nc i a s onor a c o mo
p o t i c a c n i c a . Es c ol a d e Te a t r o d a Un i v e r s i d a d e Fe d e r a l d a
Ba h i a . Nov. d e 200 5.
103
As aes e reaes dos atores partiram das imagens e sensaes construdas por eles;
as vozes inarticuladas, os sons produzidos pelos objetos sonoros, as canes e as palavras do
texto foram bordadas sobre a tela da imagem.
A experimentao integrada do movimento corporal-vocal provocou nos atores
impulsos nas suas imaginaes, oferecendo-lhes combinaes variadas para alimentar o
processo criativo da Ambincia Sonora na Cena. Por meio da experimentao e percepo dos
ajustes corporais-vocais vivenciados no instante da criao, foram construdos novos gestos
nos corpos-vocais, livres da imitao da vida cotidiana e estimulado a pensar por imagens
(PICON-VALLIN, 1946, p.46).
O caminho percorrido pelos atores neste processo de criao baseou-se na
experimentao de sensaes e imagens para construo da sonoridade da cena. Neste
laboratrio, as palavras e os sons do texto O Capataz de Salema ganharam vida a partir dos
valores estabelecidos na cena, por meio das relaes surgidas no ambiente. Cada palavra foi
encontrando sua respirao, intensidade, fora articulatria, timbre, curva meldica e ritmo
nas relaes concretas oriundas do ambiente de criao.
As Ambincias Sonoras foram constitudas pelo fluxo de imagens associadas aos
gestos vocais e corporais dos atores, os quais manifestavam as potencialidades audio-visuais
da cena em relao tanto de dissonncia quanto de consonncia.
104
5 CONCLUSO
Para alcanar os objetivos desta dissertao apresentados no projeto inicial foi
realizado o laboratrio prtico da Ambincia Sonora na Cena, onde foram aplicados os
exerccios selecionados e criados para esta pesquisa. Possibilidades da investigao vocal para
a cena surgiram e tambm novas indagaes sobre como fazer ou como conduzir um processo
de criao apareceram. Neste trabalho, o processo de criao um meio propulsor para a
descoberta de procedimentos tcnicos do ator.
Esta pesquisa experimentou diferentes formas de trabalhar a voz do ator dentro da
perspectiva de faz-lo se perceber dentro do agir muscular influenciado pelo ambiente e
percebendo tambm as foras vibratrias da sua voz afetando o ambiente formado pelo corpo
coletivo. Diferente da tcnica da voz impostada utilizada na tcnica da oratria, para esta
pesquisa investigou-se a nfase das variaes, os parmetros da voz, as mudanas de timbre,
intensidade, velocidade da fala e curva meldica em relao aos estados corporais vivenciados
nos jogos propostos no laboratrio, extrapolando os limites do corpo, e materializadas na
cena. Sendo assim, diferentes ajustes corporais-vocais surgiram e conseqentemente, variadas
qualidades sonoras se estabeleceram, onde todo o corpo participa da emisso daquele som.
Os estudos aplicados fonoaudiologia contriburam afirmando que o corpo registra o
que funcional, as mudanas ocorridas nele decorrem da sua relao com o meio. Seguindo
esta linha de pensamento para alcanar o objetivo desta dissertao, tornou-se necessria que
a preparao e criao vocal estivessem inseridas em um contexto que proporcionasse
descobertas para o corpo-vocal, de maneira dinmica, inserido-o em um ambiente no qual se
questionou como fazer ou o que fazer, buscando solues pertinentes determinada situao.
O processo de criao do Laboratrio da Ambincia Sonora na Cena possibilitou descobertas
de novos ajustes musculares, sonoros e imagticos para o corpo-vocal do ator, por meio da
conscientizao dos estados corporais-vocais experimentados, ampliados e reproduzidos
durante a ocorrncia dos exerccios vivenciados na preparao dos atores participantes do
processo de criao.
Nesta pesquisa, a conscincia do funcionamento anatomo-funcional do corpo-vocal
fez parte da base do conhecimento do ator, a noo de fisiologia do trato vocal associada aos
105
ajustes posturais esteve presente durante todo o processo de criao, possibilitando ao ator
liberdade e habilidade para a investigao sonora da cena.
Esta pesquisa enfatizou que a vocalidade do ator nasce da cena e a sonoridade da cena
se faz no ator, a cena nasce da voz e a voz nasce da cena. No laboratrio de A Ambincia
Sonora na Cena, as didasclias do texto O Capataz de Salema apresentou-se como
possibilidade prtica de investigao e suas palavras como significantes abertos, com
qualidades de expresso fora da palavra. O significado da palavra ganhou sentido no processo
de criao, durante a experimentao da palavra pelo ator, a fora da vibrao sonora, que por
si s gera sentidos impostos pelos estados corporais-vocais vivenciados por cada ator no
momento do processo de criao.
No laboratrio da Ambincia Sonora na Cena revelou-se a corporeidade vocal de cada
ator, ou seja, valorizou-se as caractersticas locais, contextuais, bio-psico-sociais expressas
nas texturas sonoras presente nas vozes dos participantes desta pesquisa. Partiu-se do
imaginrio, da percepo sonora local infiltrada em cada pessoa para transfigur-la no
processo de criao, revelando a voz na qualidade de matria do corpo, com suas memrias e
imaginao.
A ambincia gerada pela Cano do Mar de Salema tem a sonoridade como motor
propulsor do fazer cnico. A investigao sonora gerou gestos precisos, aes fsicas,
relacionados com o espao. Foi a imagem e sensao sonora encarnadas nos atores em uma
relao de jogo que criou a Ambincia Sonora da Cena, constituda pela mistura udio-
visual, proporcionada pela fuso do gesto corporal-vocal expressado pelo corpo coletivo
formado pelos atores, fazendo transbordar imagens, sensaes, msicas, rudo, palavras
encantadas no ambiente da cena.
Este trabalho no se esgota aqui, a pesquisa prtica e terica continua com o desejo de
aprofundar os estudos sobre as potencialidades sonoras presentes no espetculo teatral,
especificamente abrindo possibilidades de em outras pesquisas, mantendo a voz do ator como
eixo condutor do processo de criao, investigar como a voz e as sonoridades geradas vo
sendo estimuladas e estimulam a construo de imagens, gestos, espacialidades, enfim,
diversos elementos para a linguagem cnica. Como a voz corpo, como espacial, como
sinestsica, como se pode explorar no s o texto desta pesquisa, mas outros textos na sua
106
qualidade sonora. Como pode ser sugerido tambm movimentos sonoros em prticas
corporais. necessrio que cada profissional da voz continue a pesquisar nesta rea,
ampliando a literatura sobre voz e sonoridade, possibilitando outros caminhos de
experimentao da prtica vocal nas artes cnicas.
107
REFERNCIAS
AGUIAR, Vera Teixeira de. O verbal e o no verbal. So Paulo: UNESP, 2004.
ALEIXO, Fernando. A voz (do) corpo: memria e sensibilidade. Urdimento: Revista de
Estudos de Ps-Graduados em Artes Cnicas, Florianplis, v.1, n. 6, dez. 2004. p. 149 163.
ARROJO, Rosemary (org). O signo desconstrudo: implicaes para a traduo, a leitura e o
ensino. So Paulo: Pontes, 2003.
ARTAUD, Antonin. Linguagem e vida. So Paulo: Perspectiva, 2004.
ARTAUD, Antonin. O teatro e seu duplo. So Paulo: Martins Fontes, 1999.
AZEVEDO, Snia Machado de. O papel do corpo no corpo do ator. So Paulo: Perspectiva
(Estudos 184), 2004.
BARBA, Eugenio. Alm das ilhas flutuantes. So Paulo: HUCITEC, Campinas:
UNICAMP, 1991.
BEHLAU, Mara. Voz o livro do especialista. So Paulo: Revinter, 2001.
BEHLAU, Mara & REHDER, Maria Ins. Higiene vocal para o canto coral. Rio de Janeiro:
Revinter, 1997.
BEUTTENMLLER, Maria da Glria & LAPORT, Nelly. Expresso vocal e expresso
corporal. Rio de Janeiro: Enelivros, 1992.
BEUTTENMLLER, Maria da Glria & LAPORT, Nelly. O despertar da comunicao
vocal. Rio de Janeiro: Enelivros, 1995.
BONFITTO, Matteo. O ator compositor. So Paulo: Perspectiva, 2002.
BOONE, Daniel R. Sua voz est traindo voc: como encontrar sua voz natural. Porto
Alegre: Artes Mdicas, 1993.
108
BROOK, Peter. Fios do tempo: memrias. Traduo Carolina Arajo. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 2000.
BROOK, Peter. O ponto de mudana: quarenta anos de experincias teatrais: 1946-1987.
Traduo de Antnio Mercado e Elena Gaidano. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1994
BORNHEIM, Gerd. A esttica Brechtiana entre cena e texto, transcrio de palestra do
seminrio cultura e prtica teatral em Bertolt Brecht, no Centro Cultural do Banco do Brasil,
2001. Revista Folhetim, So Paulo, n. 622, 17 de dez, 1988.
BURNIER, Luis Otvio. A arte de ator: da tcnica representao. Campinas: Unicamp,
1994.
CARDOZO, Joaquim. O Capataz de Salema e Antnio Conselheiro. Recife: Fundao de
Cultura Cidade do Recife, 2001.
CHARTIER, Roger. Do palco pgina: publicar teatro e ler romances na poca moderna
sculos XVI-XVIII. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2002.
DAMSIO, Antonio. Em busca de Espinosa: prazer e dor na cincia dos sentimentos. So
Paulo: Companhia das Letras, 2004;
DAMSIO, Antonio. O mistrio da conscincia. So Paulo: Companhia das Letras, 2000.
DERRIDA, Jacques. A escritura e a diferena. Trad. Maria Beatriz Marques Nizza da Silva.
So Paulo: Perspectiva, 1971.
FERNANDES, Ciane. O corpo em movimento: o sistema Laban/Bartenieff na formao e
pesquisa em artes cnicas. So Paulo: Annablume, 2002.
FERREIRA, Leslie Piccolotto. Trabalhando a voz. So Paulo: Summus, 1988.
FONSECA, Vitor da. Psicomotricidade: filognese, ontognese e retrognese. Porto Alegre:
Artes Mdicas, 1998.
FORTUNA, Marlene. A performance da oralidade teatral. So Paulo: Annablume, 2000.
109
GAYOTTO, Lcia Helena. Voz, partitura da ao. So Paulo: Summus, 1998.
GREINER, Christine. O corpo: pistas para estudos interdisciplinares. So Paulo: Annablume,
2005.
GROTOWSKI, Jerzy. Em busca de um teatro pobre. Trad. de Aldomar Conrado. Rio de
Janeiro: civilizao Brasileira, 1971.
GUBERFAIN, Jane Celeste (org.). Voz em cena. Rio de Janeiro: Revinter, 2004.
GUEDES, Antonio. A vida e a morte de Antonin Artaud-obra de Artaud., Revista
Folhetim, Rio de Janeiro n. 6, 2000.
LABAN, Rudolf. Domnio do movimento. 3.ed. So Paulo: Summus, 1978. (Coleo:
Comportamento, Corpo, Movimento).
LAPLANTINE, Franois;TRINDADE, Liana S. O que imaginrio. So Paulo: Brasiliense,
2003.
LEITE, Joo Denys Arajo, Um teatro da morte: transfigurao potica do Bumba-meu-Boi
e desvelamento sociocultural na dramaturgia de Joaquim Cardozo. Recife: Fundao de
Cultura Cidade do Recife, 2003.
LE HUCHE, Franois; ALLALI, Andre. A voz. Porto Alegre: Artes Mdicas, 1999.
MARTINS, Janana Trsel. A integrao corpo-voz na arte do ator: a funo da voz na
cena, a preparao vocal orgnica. O processo de criao vocal. Dissertao (Mestrado em
Teatro) Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianpolis, 2004.
MARTINS, Janana Trsel. A relao entre o texto escrito e a vocalidade e o texto de teatro:
contribuies a partir de Paul Zumthor. Urdimento: Revista de Estudos de Ps-Graduados
em Artes Cnicas, Florianpolis, v.1, n. 6, dez. 2004. p. 141 148.
MRTZ, M. L. W. .Preparao Vocal do Ator. In: FERREIRA, L.P.; SILVA, M. A. A. (org).
Sade vocal: prticas fonoaudiolgicas. So Paulo: Roca, 2002.
MELLO, Edme Brandi de Souza. Educao da voz falada. 3. ed. So Paulo: Atheneu,
1995.
110
MELLO, Mnica. O caminho do ator buscador: um treinamento pr-expressivo.
Dissertao (Mestrado em Artes Cnicas) Escola de Teatro, Programa de Ps-Graduao em
Artes Cnicas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2006.
NACHMANOVITCH, Stephen. Ser criativo: o poder da improvisao na vida e na arte. So
Paulo, Summus, 1993.
OLIVEIRA, Domingos Svio. Exploso da voz no teatro contemporneo: uma anlise
espectrogrfica computadorizada da voz de grande intensidade no espao cnico. Dissertao
(Mestrado em Teatro). Escola de Teatro. Universidade do Rio de Janeiro UNIRIO. Rio de
Janeiro, 1997.
OLIVEIRA, rico Jos de Souza. Antnio Conselheiro: potica intertextual na dramaturgia
de Joaquim Cardozo. Dissertao (Mestrado em Artes Cnicas) Escola de Teatro, Programa
de Ps-Graduao em Artes Cnicas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2002.
PAVO, Vnia. Postura, respirao e voz. In: Valle,M.G.M.(org). Voz: diversos enfoques em
fonoaudiologia. Rio de Janeiro: Revinter, 2002.
PAVIS, Patrice. A Anlise dos espetculos: teatro, mmica, dana, dana-teatro, cinema. So
Paulo; Perspectiva, 2005.
PICON-VALLIN, Beatrice. A arte do teatro: entre tradio e vanguarda: Meyerhold e a cena
contempornea. Rio de Janeiro: Teatro do pequeno gesto, Letra e Imagem, 2006.
PINHO, Slvia M. Rebelo (org.). Fundamentos em fonoaudiologia. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1998.
QUINTEIRO, Eudosia. Esttica da voz: uma voz para o ator. So Paulo: Summus, 1989.
ROUBINE, Jean Jacques. A arte do ator. Trad. Yan Michalski e Rosyane Trotta, Rio de
Janeiro: Jorge Zahar.1987.
ROUBINE, Jean Jacques. A linguagem da encenao teatral. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
1998.
RUSSO, Ieda; BEHLAU, Mara. Percepo da fala: anlise acstica do portugus brasileiro.
So Paulo: LOVISE, 1993.
111
SALLES, Nara. Sentidos: uma instaurao cnica processos criativos a partir da potica de
Antonin Artaud. Tese (Doutorado em Artes Cnicas) Escola de Teatro, Programa de Ps-
Graduao em Artes Cnicas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2004.
SCHAFER, R. Murray. O ouvido pensante. So Paulo: UNESP, 1991.
SPOLIN, Viola. Improvisao para o teatro. So Paulo: Perspectiva (Estudos 62), 2005.
STAMBAUGH, Antonio Prieto; GONZLEZ, Yolanda Muoz. El teatro como vehculo de
comunicacin. Mxico: Trillas, 1992.
VIGOTSKI, L.S. Pensamento e linguagem. So Paulo: Martin Fontes, 1998.
WISNIK, Jos M. O som e o sentido: Uma outra histria das msicas. So Paulo:
Companhia das Letras: 1989.
ZUMTHOR, Paul. A letra e a voz. So Paulo: Companhia das Letras, 2001.
Você também pode gostar
- Livro Digital Atravessando A Crise PDFDocumento81 páginasLivro Digital Atravessando A Crise PDFLuana Ribeiro Borges100% (2)
- Langdon 2009 CamposDocumento5 páginasLangdon 2009 CamposEsther Jean LangdonAinda não há avaliações
- Registro de Huang PoDocumento46 páginasRegistro de Huang PoLisaAinda não há avaliações
- Livro Koellreutter - Terminologia de Uma Nova EstéticaDocumento150 páginasLivro Koellreutter - Terminologia de Uma Nova EstéticasergiobizettiAinda não há avaliações
- Convite Filosofia - Marilena Chaui-93-98Documento6 páginasConvite Filosofia - Marilena Chaui-93-98Kátia SalomãoAinda não há avaliações
- Manual1 Intrumentos de Avaliaao Familiar - Ilda Reis PDFDocumento27 páginasManual1 Intrumentos de Avaliaao Familiar - Ilda Reis PDFgulittAinda não há avaliações
- XII Forum Brasileiro Da ACPDocumento254 páginasXII Forum Brasileiro Da ACPPsicoterapia Humanista ExperiencialAinda não há avaliações
- APOSTILHA - PSICOLOGIA PASTORAL IDocumento64 páginasAPOSTILHA - PSICOLOGIA PASTORAL IEdval RochaAinda não há avaliações
- A Teoria Da GestalDocumento5 páginasA Teoria Da GestalAngela AbreuAinda não há avaliações
- 6.3 - Prova de Execução GráficaDocumento4 páginas6.3 - Prova de Execução GráficapelosirosnanetAinda não há avaliações
- INTRODUÇÃO À TERAPIA COGNITIVOCOMPORTAMENTAL o Começo Da Década de 1960Documento20 páginasINTRODUÇÃO À TERAPIA COGNITIVOCOMPORTAMENTAL o Começo Da Década de 1960Vanessa CastroAinda não há avaliações
- Relatório SUS 30 Anos.Documento222 páginasRelatório SUS 30 Anos.Mônica LugãoAinda não há avaliações
- Docsity Apostila Psicologia Aplicada A SaudeDocumento18 páginasDocsity Apostila Psicologia Aplicada A SaudeAderiane Lima da SilvaAinda não há avaliações
- 2013 Celia Maria GondoDocumento148 páginas2013 Celia Maria GondocleiamesmoAinda não há avaliações
- 50 Frases de Desconforto - Thiago ScursoniDocumento115 páginas50 Frases de Desconforto - Thiago ScursonipatricktonolliAinda não há avaliações
- DI - Desenho de Observação e Representação (2022)Documento57 páginasDI - Desenho de Observação e Representação (2022)Suellen NayanneAinda não há avaliações
- Sequencia Didatica - Vogal A Berçario PDFDocumento12 páginasSequencia Didatica - Vogal A Berçario PDFLuana CoelhoAinda não há avaliações
- TRILHA1Documento18 páginasTRILHA1Jacqueline LopesAinda não há avaliações
- 181565149medicina Esoterica ChinesaDocumento20 páginas181565149medicina Esoterica ChinesaLuiz Gustavo Peron MartinsAinda não há avaliações
- Robson Bierre Sousa Da CruzDocumento51 páginasRobson Bierre Sousa Da CruzLuciana BorgesAinda não há avaliações
- Pai Nosso e Os ChacrasDocumento11 páginasPai Nosso e Os ChacrasAle AbreuAinda não há avaliações
- PROJETO Matemática DivertidaDocumento12 páginasPROJETO Matemática DivertidaJames Mendonça Oliveira IAinda não há avaliações
- ApontamentosDocumento30 páginasApontamentosJOAO TEIXEIRA ArtistAinda não há avaliações
- BELTING, Hans - 2006 - Imagem Mídia e Corpo PDFDocumento13 páginasBELTING, Hans - 2006 - Imagem Mídia e Corpo PDFedgarcunhaAinda não há avaliações
- Dança Do Ventre e Prevençao Da Violencia DomesticaDocumento25 páginasDança Do Ventre e Prevençao Da Violencia DomesticaCintia MeloAinda não há avaliações
- CIF IllustradaDocumento202 páginasCIF IllustradaLeonor SaraivaAinda não há avaliações
- A Violação Das Massas Pela Propaganda Política-Serguei TchakhotineDocumento1.040 páginasA Violação Das Massas Pela Propaganda Política-Serguei TchakhotineCristiane Flores da Silva100% (1)
- Metodo Dalcroze de Educacao Musical - para o Corpo e A MenteDocumento23 páginasMetodo Dalcroze de Educacao Musical - para o Corpo e A MenteWashington Soares100% (3)
- Geografia Da Ausencia - CapítuloDocumento32 páginasGeografia Da Ausencia - CapítuloRenata RibeiroAinda não há avaliações
- 001 Percepção e A Constância PerceptivaDocumento4 páginas001 Percepção e A Constância PerceptivaGraça Martins MartinsAinda não há avaliações