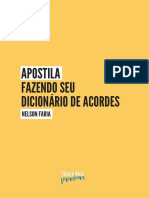Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Apostila de Subestacoes PDF
Enviado por
Bezerra EletricaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Apostila de Subestacoes PDF
Enviado por
Bezerra EletricaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
i
Subestaes
PROFESSOR ANTNIO CARLOS DELAIBA
ii
1 - INTRODUO
Uma subestao pode ser definida como sendo um conjunto de equipamentos
com propsito de chaveamento, transformao, proteo ou regulao da
tenso eltrica.
A funo ou tarefa mais importante das subestaes garantir a continuidade
com a mxima segurana de operao e confiabilidade dos servios a todas as
partes componentes dos sistemas eltricos. As partes defeituosas ou sob faltas
devem ser desligadas imediatamente e o abastecimento de energia deve ser
restaurado por meio de comutaes ou manobras.
Portanto, deve-se fornecer a energia eltrica com alto grau de confiabilidade,
tendo em vista os prejuzos elevadssimos representados por paradas de
produo. Desta forma, destaca-se a importncia de uma criteriosa escolha
dos componentes, os quais iro transformar, seccionar, proteger e comandar as
subestaes.
A escolha, aplicao e a coordenao seletiva adequadas do conjunto de
componentes que constitui uma subestao so um dos aspectos mais
importantes e pouco entendido de um projeto eltrico.
Ao especificar uma subestao, no admissvel, considerar somente o
funcionamento
normal
(nominal)
do
sistema,
deve-se
prever,
que
equipamentos podem falhar, pessoas cometerem erros e imprevistos. Assim, a
funo da proteo minimizar os danos aos sistemas e seus componentes,
bem como limitar a extenso e a durao das interrupes no fornecimento de
iii
energia, sempre que, em qualquer parte do sistema, acontecer uma falha
(equipamentos e/ou humana) ou imprevistos indesejveis, tais como: curtocircuito, sobrecarga, sobretenses, etc.
Portanto, a escolha dos equipamentos de uma subestao embora deva atender
a certas condies mnimas de segurana e confiabilidade, depender de
fatores econmicos, bem como de uma criteriosa escolha dos equipamentos
que iro desenvolver as seguintes funes:
Transformao;
Seccionamento (manobra);
Proteo;
Etc.
Nestas condies, este curso tem por objetivo desenvolver e discutir,
criteriosamente, uma tcnica que de selecionar, coordenar, ajustar e aplicar
os vrios equipamentos eltricos de manobra, proteo, transformao
normalmente utilizados nas subestaes de energia.
As anlises iro contemplar vrias situaes normais e anormais, tais como:
Operao em regime (carga nominal);
Operao em sobrecarga;
Condies de curto-circuito (efeitos trmico e dinmico);
Seletividade;
Etc.
iv
A ttulo de uma melhor compreenso dos estudos citados, ao longo do curso,
sero desenvolvidos e propostos vrios exemplos de aplicao.
Para atingir estas metas, este trabalho apresenta-se desenvolvido com a
seguinte estrutura:
CAPTULO 1 - REVISO SOBRE OS CONCEITOS BSICOS DE
CIRCUITOS ELTRICOS
Neste captulo fez-se uma rpida reviso dos principais conceitos e extraiu-se
da extensa teoria, as equaes bsicas referentes aos sistemas monofsicos e
trifsicos. Desta forma, uma viso geral sobre os principais conceitos
necessrios ao desenvolvimento do curso foi evidenciada.
CAPTULO 2 - INTRODUO
AO
SISTEMA
ELTRICO
DE
POTNCIA
Este captulo preocupou-se to somente em definir e conceituar as principais
grandezas eltricas necessrias compreenso do tema proposto. As
definies foram extradas da portaria 456 da ANEEL. Complementando os
aspectos anteriores, apresentou-se os conceitos e definies envolvendo as
sobretenses devido s descargas atmosfricas e aquelas provenientes de
chaveamentos. E finalmente citou-se as principais definies envolvendo
subestaes.
CAPTULO 3 - CONFIGURAES TPICAS DE SUBESTAES
A representao grfica de um sistema eltrico de potncia, ou os diagramas
eltricos deve conter a maior quantidade possvel de informaes, com o
objetivo de representar os componentes e as suas funes especficas. Desta
forma surge o captulo 3 que tem por meta apresentar as diversas
configuraes tpicas encontradas nas subestaes. Finalmente, com base nos
diagramas unifilares, mostra-se as vantagens e desvantagens de cada arranjo
especfico.
CAPTULO 4 - DIAGRAMAS UNIFILARES TPICOS DE ALGUMAS
CONCESSIONRIAS DE ENERGIA ELTRICA
Em
funo
das
necessidades,
caractersticas
eltricas,
segurana,
confiabilidade, etc., a subestao definida a partir de um diagrama eltrico
que fixa o princpio de funcionamento da mesma, caractersticas dos
equipamentos de seccionamento, proteo, transformao e controle. Neste
sentido este captulo tem por objetivo complementar o anterior, mostrando e
comparando os diagramas unifilares das subestaes de algumas das
principais concessionrias de energia eltrica brasileira..
vi
CAPTULO 5 - ANLISE DOS EFEITOS TRMICOS E DINMICOS
PROVOCADOS PELA CORRENTE DE CURTOCIRCUITO
Este captulo faz uma abordagem da importncia, dos conceitos, efeitos e
clculos das correntes de curto-circuito trifsica e monofsica nas redes
eltricas em alta e mdia tenso. Isto se justifica, pois imprescindvel
considerar, alm dos aspectos nominais, os efeitos trmicos e dinmicos
provocados pelas correntes de curto-circuito necessrios a especificao dos
equipamentos.
CAPTULO 6 - TRANSFORMADORES
O transformador um dos componentes vitais presentes nos sistemas eltricos
de potncia, e o mesmo encontra-se na interface entre os sistemas de energia e
as cargas eltricas. Desta forma, este captulo se prope a estudar, de uma
forma sucinta, a operao deste equipamento, focalizando os seguintes
aspectos: princpio de funcionamento, rendimento, regulao, paralelismo e
comportamento trmico.
vii
CAPTULO 7 - TRANSFORMADORES
DE
CORRENTE
DE
POTENCIAL
Ao se estabelecer qualquer procedimento de medio deve-se, de antemo,
ressaltar que os trabalhos requerem etapas distintas e relevantes para o
processo. Estas compreendem adequao dos sinais de tenso e corrente aos
requisitos impostos pelos instrumentos de medio e/ou proteo, o que
realizado pelos TCs e TP's.
Como parte integrante dos temas considerados neste trabalho, para fins de um
melhor entendimento da operao dos TP's e TCs, far-se- necessria uma
abordagem do tema, de forma a contemplar os seguintes aspectos: princpios
de funcionamento, definies, principais caractersticas, classes de exatido,
tipos de conexo, etc.
CAPTULO 8 - EQUIPAMENTOS
DE
SECCIONAMENTO
PROTEO
A energia eltrica deve ser fornecida com alto grau de segurana,
confiabilidade e continuidade. Desta forma, destaca-se a importncia de uma
criteriosa escolha dos componentes, os quais iro seccionar (dispositivos de
manobra ou seccionamento) e proteger (dispositivos de proteo) a instalao.
Assim, este captulo tem por meta a descrio sucinta dos principais
equipamentos de secionamento e proteo em subestaes. Dentre estes,
viii
destacam-se: fusveis, disjuntores, seccionadores, rels, pra-raios, etc., onde
sero analisados os seguintes aspectos: princpios de funcionamento,
definies, curvas caractersticas, especificao, aplicaes, etc.
CAPTULO 9 - SELETIVIDADE
Quando uma falta ocorre numa rede eltrica, ela pode ser detectada
simultaneamente por diversos dispositivos de proteo situados em diferentes
reas. A seletividade do sistema de proteo d prioridade de operao aos
dispositivos mais prximos, localizados montante da falta. Desta forma, a
interrupo no fornecimento de energia fica limitada a menor parte possvel
do sistema. Entretanto, o sistema de proteo tambm permite contingncias.
Pois, quando o sistema projetado, leva-se em considerao a possibilidade
de um dispositivo de proteo falhar. Neste caso, um outro dispositivo,
localizado a montante deste, deve atuar para limitar os efeitos da falta. Estes
dispositivos de proteo instalados em srie na rede eltrica, representa para o
sistema eltrico uma maior confiabilidade.
Diante da importncia deste assunto, este captulo abordar as cinco principais
tcnicas de proteo seletiva utilizadas em subestaes, a saber: seletividade
amperimtrica, cronomtrica, lgica, por proteo diferencial e direcional.
ix
CAPTULO 10 - PROTEO DE TRANSFORMADORES
O transformador, por se tratar de um importante equipamento presente nas
instalaes de uma subestao, o mesmo necessita de um eficiente sistema de
proteo contra todas as faltas susceptveis de danific-lo. Por esta razo,
discute-se neste captulo os principais dispositivos empregados na sua
proteo.
CAPTULO 11 - PROTEO DE GERADORES
De uma maneira semelhante ao realizado para transformadores, este captulo
tem por finalidade discutir a influncia das anormalidades operacionais
impostas ao gerador, dentre as quais destacam-se: sobrecargas, curtoscircuitos, desequilbrios, etc. Adicionalmente, apresenta-se tambm os
principais dispositivos e os esquemas eltricos caractersticos normalmente
associados com a proteo destes equipamentos.
CAPTULO 12 -
NOES SOBRE SISTEMAS AUXILIARES
UTILIZADOS NAS SUBESTAES
Sabe-se que existem basicamente dois tipos de servios auxiliares utilizados
nas subestaes, quais sejam: fontes de servios auxiliares em corrente
alternada e em corrente contnua. Assim pretende-se neste captulo abordar
vrios aspectos inerentes aos sistemas auxiliares citados acima, dentre os quais
destaca-se: esquemas de manobra, especificao das fontes CA e CC,
definies e conceitos bsicos, tipos de carregadores-retificadores e
dimensionamento dos acumuladores e dos retificadores.
CAPTULO 13 - TARIFAO HORO-SAZONAL
At 1981 a tarifa imposta pelas concessionrias de energia eltrica, era nica e
se chamava convencional, no levando em conta as horas do dia e nem os
meses do ano. A partir da ano citado, criou-se a tarifa horo-sazonal (azul e
verde), em que foram institudos preos diferenciados em funo da demanda
e da energia consumidas em perodos distintos do dia (ponta e fora de ponta) e
do ano (mido e seco). Assim, a titulo de ilustrao, mostra-se neste captulo
as definies, expresses de clculo e orientaes gerais no que tange a
sistemtica envolvendo a tarifao convencional e a horo-sazonal.
10
CAPTULO 1
REVISO SOBRE OS CONCEITOS BSICOS DE
CIRCUITOS ELTRICOS
11
CAPTULO 1 REVISO SOBRE OS CONCEITOS BSICOS DE CIRCUITOS ELTRICOS
REVISO SOBRE OS CONCEITOS BSICOS DE
CIRCUITOS ELTRICOS
1 SISTEMAS ELTRICOS
Antes de entrarmos no assunto associado ao tema subestaes, deve-se fazer
uma rpida reviso da teoria e frmulas de clculo, envolvidos nas instalaes
eltricas, com o objetivo de abordar os principais conceitos e extrair da extensa
teoria aquilo que mais importante para a compreenso dos princpios
envolvidos na operao e no funcionamento dos dispositivos de seccionamento e
proteo utilizados em subestaes.
1.1 SISTEMAS DE CORRENTE ALTERNADA MONOFSICA
1.1.1 GENERALIDADES
A corrente alternada se caracteriza pelo fato de que a tenso, em vez de
permanecer fixa, como entre os polos de uma bateria, varia com o tempo,
mudando de sentido alternadamente. O nmero de vezes por segundo que a
tenso muda de sentido e volta condio inicial a freqncia do sistema,
expressa em "ciclos por segundo" ou "hertz", simbolizada por "Hz".
No sistema monofsico, uma tenso alternada U (Volt) gerada e aplicada entre
dois fios, aos quais se liga a carga, que absorve uma corrente I (Ampre),
conforme mostrado na figura 1a.
12
CAPTULO 1 REVISO SOBRE OS CONCEITOS BSICOS DE CIRCUITOS ELTRICOS
U, I
Umax
Imax
I
Z
tempo
1ciclo=360
(a)
(b)
Figura 1 - (a) Sistema monofsico, (b) Formas de onda da tenso e da corrente
para um circuito monofsico;
Se apresentarmos em um grfico os valores de U e I a cada instante, obtm-se a
fig. 1b. Nesta figura esto tambm indicadas algumas grandezas que sero
definidas em seguida. Nota-se que as ondas de tenso e de corrente no esto
"em fase", isto , no passam pelo valor zero ao mesmo tempo, embora possuam
a mesma freqncia. Isto acontece para muitos tipos de cargas, por exemplo,
motores, transformadores, reatores, etc.
1.1.2 LIGAES SRIE E PARALELO
Quando ligarmos duas cargas iguais a um sistema monofsico, esta conexo
pode ser feita de dois modos:
- Ligao em Srie:
As duas cargas so atravessadas pela mesma corrente
total . Neste caso, a tenso em cada carga ser a metade
da tenso do circuito. De um modo geral, o somatrio
da tenso aplicada em cada carga resultar na tenso
total do circuito.
13
CAPTULO 1 REVISO SOBRE OS CONCEITOS BSICOS DE CIRCUITOS ELTRICOS
- Ligao em Paralelo:
Aplica-se s duas cargas, a tenso de alimentao.
Neste caso, a corrente nas cargas ser a metade da
corrente total. De um modo geral, o somatrio das
correntes em cada carga ser a corrente total do
circuito. As figuras 2 e 3 esclarecem o comentrio
realizado.
220V
220V
10A
440V
20A
220V
Figura 2 - Ligao em Srie
10A
10A
Figura 3 - Ligao em Paralelo
1.2 SISTEMAS DE CORRENTE ALTERNADA TRIFSICA
1.2.1 GENERALIDADES
O sistema trifsico formado pela associao de trs sistemas monofsicos de
tenses, U1, U2 e U3, defasados entre si de120, ou seja, os "atrasos" de U2 e U1
em relao a U3 so iguais a 120, (considerando um ciclo completo de 360),
conforme mostrado na figura 4.
Ligando entre si os trs sistemas monofsicos e eliminando os fios
desnecessrios, tem-se um sistema trifsico de tenses defasadas de 120 e
aplicadas entre os trs fios do sistema.
14
CAPTULO 1 REVISO SOBRE OS CONCEITOS BSICOS DE CIRCUITOS ELTRICOS
U1
U2
I1
U3
I2
I3
(a)
U
U1
U2
120
120
U3
1 ciclo = 360
(b)
Figura 4 - (a) Trs sistemas monofsicos independentes
(b) Formas de onda de um sistema trifsico de tenses defasadas de 120;
1.2.2 LIGAO TRINGULO
Chamam-se "tenses e correntes de fase" as tenses e correntes de cada um dos
trs sistemas monofsicos considerados, indicados por Uf e If.
Se ligarmos os trs sistemas monofsicos entre si, como indicado na Fig. 5,
pode-se eliminar trs fios, deixando apenas um em cada ponto de ligao, e o
sistema trifsico ficar reduzido a trs fios U, V e W.
15
CAPTULO 1 REVISO SOBRE OS CONCEITOS BSICOS DE CIRCUITOS ELTRICOS
A tenso entre dois quaisquer destes trs fios chama-se "tenso de linha" (UL),
que a tenso nominal do sistema trifsico. A corrente em qualquer um dos fios
chama-se "corrente de linha" (IL).
Examinando o esquema eltrico da Fig. 6, observa-se que:
1) carga aplicada a tenso de linha UL que a prpria tenso do sistema
monofsico componente, ou seja, UL = Uf.
2) A corrente de linha IL, a soma das correntes das duas fases ligadas a este fio,
ou seja, I = If1 + If3. Como as correntes esto defasadas entre si, a soma dever
ser feita graficamente, como mostrado na fig. 7, onde se obtm com base nas
figuras 5, 6 e 7, a seguinte relao:
IL = I f x
3 = 1 ,732 x If .
(1)
Exemplo: Tem-se um sistema trifsico equilibrado de tenso nominal 220 Volt.
A corrente de linha medida de 10 Ampre. Ligando-se a este sistema uma
carga trifsica composta de trs cargas iguais ligadas em tringulo. Nestas
condies, qual ser a tenso e a corrente em cada uma das cargas?
Tem-se que: Uf = U1= 220 Volt em cada uma das cargas.
Se IL = 1,732 x If, obtm-se If =0,577xIL= 0,577 x 10= 5,77. Logo as correntes
em cada uma das cargas (fase) ser de 5,77 A.
V
I1
W
I2
I3
Uf1
Uf2
Uf3
If1
If2
If3
Figura 5 - Ligao eltrica em tringulo;
16
CAPTULO 1 REVISO SOBRE OS CONCEITOS BSICOS DE CIRCUITOS ELTRICOS
I1
U
I1=If1+If3
UL=Uf
If3
If1
If1
If3
If2
W
V
Figura 6 - Esquema eltrico para
ligao tringulo
Figura 7 - Diagrama fasorial das correntes
de linha e de fase para a ligao em
tringulo
1.2.3 LIGAO ESTRELA
Ligando-se um dos fios de cada sistema monofsico a um ponto comum aos trs
fios restantes, forma-se um sistema trifsico em estrela, conforme ilustrado na
figura 8. s vezes o sistema trifsico em estrela a "quatro fios" ou "com
neutro" (aterrado ou isolado). O quarto fio ligado ao ponto comum s trs
fases. A tenso de linha, ou a tenso nominal do sistema trifsico, e a corrente de
linha so definidas de maneira semelhante ao realizado na ligao tringulo.
Examinando-se o esquema da Fig. 9, observa-se que:
1) A corrente de linha IL a mesma corrente da fase qual o fio est ligado, ou
seja, IL=If.
2) A tenso entre dois fios quaisquer do sistema trifsico a soma grfica, de
acordo com a figura 10, das tenses de duas fases s quais esto ligados os fios
considerados. Conforme ilustram as figuras 8,9 e 10, a relao existentes entre
as tenses de linha e de fase, so expressas pela seguinte relao:
17
CAPTULO 1 REVISO SOBRE OS CONCEITOS BSICOS DE CIRCUITOS ELTRICOS
UL = Uf x
3 = 1 ,732 x Uf.
(2)
Exemplo: Tem-se uma carga trifsica composta de trs cargas iguais; onde, cada
carga alimentada por uma tenso de 220 Volt, absorvendo 5,77 ampre. Nestas
condies, pede-se: Qual a tenso e a corrente nominal do sistema trifsico que
alimenta esta carga em suas condies normais?
Tem-se que:
Uf = 220 Volt. Ento:
UL= 1,732 x 220= 380 Volt
IL = If = 5,77 Ampre
V
I1
W
I2
I3
Uf1
Uf2
Uf3
If1
If2
If3
Figura 8 - Sistema trifsico ligado em estrela;
18
CAPTULO 1 REVISO SOBRE OS CONCEITOS BSICOS DE CIRCUITOS ELTRICOS
U
I1=If1
If1
Uf1
V
UL=U1
U1=Uf1+ Uf2
Uf2
Uf1
Uf2
Figura 9 - Esquema eltrico para
ligao estrela
Figura 10 - Diagrama fasorial das tenses
de linha e de fase para a ligao em estrela
1.3 POTNCIAS
Em um sistema eltrico, tem-se trs tipos de potncias, as quais so definidas
como sendo potncia aparente, ativa e reativa. Estas potncias esto intimamente
ligadas de tal forma que constituem um tringulo, conhecido como "Tringulo
das Potncias". A figura 11 ilustra o comentrio realizado, e cujas grandezas
eltricas esto definidas abaixo:
S: Potncia aparente, expressa em VA (volt-ampere).
P: Potncia ativa ou til, expressa em W (watt).
Q: Potncia reativa, expressa em VAr (volt ampre reativo)
: ngulo que determina o fator de potncia.
19
CAPTULO 1 REVISO SOBRE OS CONCEITOS BSICOS DE CIRCUITOS ELTRICOS
10
S
Q
Figura 11 Tringulo das Potncias
1.3.1 - POTNCIA ATIVA OU TIL
a componente da potncia aparente (S), que realmente utilizada em um
equipamento, na converso da energia eltrica em outra forma de energia.
Em um sistema monofsico definida por:
P = U . I. cos.
(3)
Em um sistema trifsico pode ser expressa por:
P=3 . Uf . If . cos
ou
P= 3 . UL . IL . cos
(4)
1.3.2 POTNCIA REATIVA
a componente da potncia aparente (S), que no contribui na converso de
energia.
Em um sistema monofsico definida por:
20
CAPTULO 1 REVISO SOBRE OS CONCEITOS BSICOS DE CIRCUITOS ELTRICOS
Q = U. I. sen
11
(5)
Em um sistema trifsico expressa por:
Q = 3 . Uf . If . sen
`
ou
Q = 3 . UL . IL . sen
(6)
1.3.3 POTNCIA APARENTE
a soma vetorial da potncia til e a reativa. uma grandeza que para ser
definida, precisa de mdulo e ngulo, caractersticas do vetor. Assim tem-se:
Mdulo: S = P 2 + Q 2
(7)
ngulo: = arctg (Q/P)
(8)
Aqui, pode-se notar a importncia do fator de potncia. Ele definido como
sendo a relao entre a potncia til e a aparente, isto :
f.p. = cos = P/S
(9)
Imagine dois equipamentos que consomem a mesma potncia til de 1000 W,
porm o primeiro tem cos = 0,5 e o segundo tem cos = 0,85. Pelo tringulo
das potncias, chega-se concluso de que a potncia aparente a ser fornecida
ao primeiro equipamento de 2000 VA, enquanto que o segundo requer apenas
1176,5 VA.
21
CAPTULO 1 REVISO SOBRE OS CONCEITOS BSICOS DE CIRCUITOS ELTRICOS
12
Um transformador dimensionado pela potncia aparente (S), e nestas
condies, deve-se manter um fator de potncia elevado em uma instalao
eltrica. Alm disto, as concessionrias de energia cobram pesadas multas sobre
a tarifa de energia para aqueles que apresentarem fator de potncia inferior a
0,92.
A potncia aparente pode ser calculada por:
S = U. I (VA) Sistema Monofsico
(10)
S=3. Uf . If =
(11)
3 x UL . IL Sistema Trifsico
Outras relaes importantes, podem ser expressas por:
S = P / cos (VA)
(12)
S = Q / sen (VA)
(13)
A ttulo de ilustrao, mostra-se na tabela 1, a determinao dos valores de
tenso, corrente, potncia e fator de potncia em funo do tipo de conexo da
carga.
22
CAPTULO 1 REVISO SOBRE OS CONCEITOS BSICOS DE CIRCUITOS ELTRICOS
13
Tabela 1 Valores das grandezas eltricas em funo do tipo de ligao;
Denominao
Tenso de Linha
Tenso no Enrolamento
Estrela
UL
UL / 3
IL
IL
Corrente de Linha
Corrente no Enrolamento
Tringulo
UL
UL
IL
IL / 3
Ligaes
dos Enrolamentos
Esquemas
If = IL/ 3
IL
Uf = UL/ 3
Uf=UL
UL
Potncia Aparente
kVA
Potncia Ativa
kW
Potncia Reativa
kVAr
3 x UL . IL
P = 3 . Uf . If . cos = 3 . UL . IL . cos
Q = 3 . Uf . If . sen = 3 . UL . IL . sen
kVA
SP = P + jQ
Potncia Absorvida da Rede
Primria
Fator de Potncia da Instalao
S=3. Uf . If =
Depende da instalao eltrica (cos2)
23
CAPTULO 2
INTRODUO AO SISTEMA ELTRICO DE POTNCIA
24
CAPTULO 2 INTRODUO AO SISTEMA ELTRICO DE POTNCIA
INTRODUO AO SISTEMA ELTRICO DE POTNCIA
1 INTRODUO
Um sistema eltrico de potncia, na sua concepo geral, constitudo
pelos equipamentos necessrios para transportar a energia eltrica desde a
"fonte" at os pontos em que ela utilizada. Basicamente, este processo,
desenvolve-se em quatro etapas: gerao, transmisso, distribuio e
utilizao.
Na figura 1, pode ser visto o diagrama de blocos de um sistema eltrico de
potncia tpico, bem como a localizao dos respectivos consumidores.
Figura 1 - Esquema bsico do sistema eltrico de potncia;
As 4 etapas, mostradas na figura 1, podem ser sucintamente definidas da
seguinte forma:
Gerao:
A converso da energia primria em eltrica se faz, normalmente, atravs
de converses intermedirias at a gerao de energia eltrica. De um modo
2
25
CAPTULO 2 INTRODUO AO SISTEMA ELTRICO DE POTNCIA
geral, a converso eletromecnica de energia realizada atravs de
geradores sncronos alimentados por turbinas hidrulicas.
Transmisso:
O transporte de energia eltrica feito atravs das linhas de transmisso,
cujo valor de tenso, depende do comprimento da linha e da quantidade de
energia a ser transportada.
Sabe-se que, quanto maior a distncia entre a gerao e o consumo, maior
ser a tenso para a transmisso. Alm disso, atualmente, tem que se levar
em considerao, se a transmisso ser feita em corrente alternada ou em
corrente contnua.
Distribuio
Nesta etapa, a energia dever ser fornecida a tenses compatveis com os
nveis de consumo.
O diagrama unifilar, representado na figura 2, ilustra os nveis de tenso
normalmente empregados nas diversas etapas envolvidas na transmisso da
energia eltrica.
Gerao
MT e BT
Transmisso
AT-EAT-UAT
(CA e CC)
Consumidor
Sub-Transmisso
AT-EAT-UAT
(CA e CC)
Distribuio
MT
Consumidor
Consumidor Consumidor
Figura 2 Sistema eltrico de potncia consumidores;
3
26
CAPTULO 2 INTRODUO AO SISTEMA ELTRICO DE POTNCIA
Como pode ser visto na figura 2, existem consumidores, isto , instalaes
eltricas, alimentadas diretamente a partir das diferentes etapas do sistema
eltrico de potncia em funo da quantidade de energia e extenso.
Deve-se introduzir um sub-sistema, entre a transmisso e a distribuio,
para que se disponibilize aos consumidores todos os nveis de tenso,
denominado de sub-transmisso.
Dependendo do nvel, a tenso classificada em:
Baixa tenso ( BT )
at 1kV
Mdia tenso ( MT )
de 1 a 66 kV ( inclusive )
Alta tenso
de 69 kV a 230kV ( inclusive)
( AT )
Extra alta Tenso ( EAT )
de 230kV a 800kV ( inclusive )
Ultra Alta Tenso ( UAT )
maiores que 800kV
Os consumidores esto classificados em quatro grupos:
Grupo 1 Grandes consumidores;
Grupo 2 - Consumidores mdios;
Grupo 3 - Pequenos consumidores em mdia tenso;
Grupo 4 - Pequenos consumidores em baixa tenso.
2 CONCEITOS E DEFINIES
A ttulo de ilustrao e para o desenvolvimento deste curso, adotar-se- as
seguintes definies mais usuais extradas da portaria 456 da ANEEL.
4
27
CAPTULO 2 INTRODUO AO SISTEMA ELTRICO DE POTNCIA
Carga Instalada: soma das potncias nominais dos equipamentos
eltricos instalados na unidade consumidora, em condies de entrar em
funcionamento, expressa em quilowatts (kW).
Concessionria ou permissionria: agente titular de concesso ou
permisso federal para prestar o servio pblico de energia eltrica,
referenciado, doravante, apenas pelo termo concessionria.
Consumidor: pessoa fsica ou jurdica, ou comunho de fato ou de
direito, legalmente representada, que solicitar concessionria o
fornecimento de energia eltrica e assumir a responsabilidade pelo
pagamento das faturas e pelas demais obrigaes fixadas em normas e
regulamentos da ANEEL, assim vinculando-se aos contratos de
fornecimento, de uso e de conexo ou de adeso, conforme cada caso.
Consumidor livre: consumidor que pode optar pela compra de energia
eltrica de qualquer fornecedor, conforme legislao e regulamentos
especficos.
Contrato de adeso: instrumento contratual com clusulas vinculadas s
normas e regulamentos aprovados pela ANEEL, no podendo o
contedo das mesmas ser modificado pela concessionria ou
consumidor, a ser aceito ou rejeitado de forma integral.
Contrato
de
fornecimento:
instrumento
contratual
em
que
concessionria e o consumidor responsvel por unidade consumidora
do Grupo A ajustam as caractersticas tcnicas e as condies
comerciais do fornecimento de energia eltrica.
Contrato de uso e de conexo: instrumento contratual em que o
consumidor livre ajusta com a concessionria as caractersticas tcnicas
e as condies de utilizao do sistema eltrico local, conforme
regulamentao especfica.
5
28
CAPTULO 2 INTRODUO AO SISTEMA ELTRICO DE POTNCIA
Demanda: mdia das potncias eltricas ativas ou reativas, solicitadas
ao sistema eltrico pela parcela da carga instalada em operao na
unidade consumidora, durante um intervalo de tempo especificado.
Demanda contratada: demanda de potncia ativa a ser obrigatria e
continuamente disponibilizada pela concessionria, no ponto de
entrega, conforme valor e perodo de vigncia fixados no contrato de
fornecimento e que dever ser integralmente paga, seja ou no utilizada
durante o perodo de faturamento, expressa em quilowatts (kW).
Demanda de ultrapassagem: parcela da demanda medida que excede o
valor da demanda contratada, expressa em quilowatts (kW).
Demanda faturvel: valor da demanda de potncia ativa, identificada de
acordo com os critrios estabelecidos e considerada para fins de
faturamento, com aplicao da respectiva tarifa, expressa em quilowatts
(kW).
Demanda medida: maior demanda de potncia ativa, verificada por
medio, integralizada no intervalo de 15 (quinze) minutos durante o
perodo de faturamento, expressa em quilowatts (kW).
Energia eltrica ativa: energia que pode ser convertida em outra forma
de energia, expressa em quilowatts-hora (kWh).
Energia eltrica reativa: energia eltrica que circula continuamente
entre os diversos campos eltricos e magnticos de um sistema de
corrente alternada, sem produzir trabalho, expressa em quilovoltampere-reativo-hora (kvarh).
Estrutura tarifria: conjunto de tarifas aplicveis s componentes de
consumo de energia eltrica e/ou demanda de potncia ativas de acordo
com a modalidade de fornecimento.
6
29
CAPTULO 2 INTRODUO AO SISTEMA ELTRICO DE POTNCIA
Estrutura tarifria convencional: estrutura caracterizada pela aplicao
de tarifas de consumo de energia eltrica e/ou demanda de potncia
independentemente das horas de utilizao do dia e dos perodos do ano.
Estrutura tarifria horo-sazonal: estrutura caracterizada pela aplicao
de tarifas diferenciadas de consumo de energia eltrica e de demanda de
potncia de acordo com as horas de utilizao do dia e dos perodos do
ano, conforme especificao a seguir:
a) Tarifa Azul: modalidade estruturada para aplicao de tarifas
diferenciadas de consumo de energia eltrica de acordo com as
horas de utilizao do dia e os perodos do ano, bem como de
tarifas diferenciadas de demanda de potncia de acordo com as
horas de utilizao do dia.
b) Tarifa Verde: modalidade estruturada para aplicao de tarifas
diferenciadas de consumo de energia eltrica de acordo com as
horas de utilizao do dia e os perodos do ano, bem como de
uma nica tarifa de demanda de potncia.
c) Horrio de ponta (P): perodo definido pela concessionria e
composto por 3 (trs) horas dirias consecutivas, exceo feita
aos sbados, domingos e feriados nacionais, considerando as
caractersticas do seu sistema eltrico.
d) Horrio fora de ponta (F): perodo composto pelo conjunto das
horas dirias consecutivas e complementares quelas definidas
no horrio de ponta.
e) Perodo mido (U): perodo de 5 (cinco) meses consecutivos,
compreendendo os fornecimentos abrangidos pelas leituras de
dezembro de um ano a abril do ano seguinte.
f) Perodo seco (S): perodo de 7 (sete) meses consecutivos,
compreendendo os fornecimentos abrangidos pelas leituras de
maio a novembro.
7
30
CAPTULO 2 INTRODUO AO SISTEMA ELTRICO DE POTNCIA
Fator de carga: razo entre a demanda mdia e a demanda mxima da
unidade consumidora, ocorridas no mesmo intervalo de tempo
especificado.
Fator de demanda: razo entre a demanda mxima num intervalo de
tempo especificado e a carga instalada na unidade consumidora.
Fator de potncia: razo entre a energia eltrica ativa e a raiz quadrada
da soma dos quadrados das energias eltricas ativa e reativa,
consumidas num mesmo perodo especificado.
Fatura de energia eltrica: nota fiscal que apresenta a quantia total que
deve ser paga pela prestao do servio pblico de energia eltrica,
referente a um perodo especificado, discriminando as parcelas
correspondentes.
Grupo A: grupamento composto de unidades consumidoras com
fornecimento em tenso igual ou superior a 2,3 kV, ou, ainda, atendidas
em tenso inferior a 2,3 kV a partir de sistema subterrneo de
distribuio e faturadas neste Grupo nos termos definidos no art. 82,
caracterizado pela estruturao tarifria binmia e subdividido nos
seguintes subgrupos:
a) Subgrupo A1 tenso de fornecimento igual ou superior a
230 kV;
b) Subgrupo A2 tenso de fornecimento de 88 kV a 138 kV;
c) Subgrupo A3 tenso de fornecimento de 69 kV;
d) Subgrupo A3a tenso de fornecimento de 30 kV a 44 kV;
e) Subgrupo A4 tenso de fornecimento de 2,3 kV a 25 kV;
f) Subgrupo AS tenso de fornecimento inferior a 2,3 kV,
atendidas a partir de sistema subterrneo de distribuio e
faturadas neste Grupo em carter opcional.
Grupo B: grupamento composto de unidades consumidoras com
fornecimento em tenso inferior a 2,3 kV, ou, ainda, atendidas em
8
31
CAPTULO 2 INTRODUO AO SISTEMA ELTRICO DE POTNCIA
tenso superior a 2,3 kV e faturadas neste Grupo nos termos definidos
nos arts. 79 a 81, caracterizado pela estruturao tarifria monmia e
subdividido nos seguintes subgrupos:
a) Subgrupo B1 residencial;
b) Subgrupo B1 residencial baixa renda;
c) Subgrupo B2 rural;
d) Subgrupo B2 cooperativa de eletrificao rural;
e) Subgrupo B2 servio pblico de irrigao;
f) Subgrupo B3 demais classes;
g) Subgrupo B4 iluminao pblica.
Iluminao Pblica: servio que tem por objetivo prover de luz, ou
claridade artificial, os logradouros pblicos no perodo noturno ou nos
escurecimentos diurnos ocasionais, inclusive aqueles que necessitam de
iluminao permanente no perodo diurno.
Pedido de fornecimento: ato voluntrio do interessado que solicita ser
atendido pela concessionria no que tange prestao de servio
pblico de fornecimento de energia eltrica, vinculando-se s condies
regulamentares dos contratos respectivos.
Ponto de entrega: ponto de conexo do sistema eltrico da
concessionria com as instalaes eltricas da unidade consumidora,
caracterizando-se como o limite de responsabilidade do fornecimento.
Potncia: quantidade de energia eltrica solicitada na unidade de tempo,
expressa em quilowatts (kW).
Potncia disponibilizada: potncia que o sistema eltrico da
concessionria deve dispor para atender s instalaes eltricas da
unidade consumidora, segundo os critrios estabelecidos nesta
Resoluo e configurada nos seguintes parmetros:
a) unidade
consumidora
do
grupo
A:
demanda
contratada, expressa em quilowatts (kW);
9
32
CAPTULO 2 INTRODUO AO SISTEMA ELTRICO DE POTNCIA
10
b) unidade consumidora do Grupo B: a potncia e KVA,
resultante da multiplicao da capacidade nominal ou
regulada, de conduo de corrente eltrica do equipamento
de proteo geral da unidade consumidora pela tenso
nominal, observado no caso de fornecimento trifsico, o
fator especfico referente ao nmero de fases.
Potncia instalada: soma das potncias nominais de equipamentos
eltricos de mesma espcie instalados na unidade consumidora e em
condies de entrar em funcionamento.
Ramal de ligao: conjunto de condutores e acessrios instalados entre
o ponto de derivao da rede da concessionria e o ponto de entrega.
Religao: procedimento efetuado pela concessionria com o objetivo
de restabelecer o fornecimento unidade consumidora, por solicitao
do mesmo consumidor responsvel pelo fato que motivou a suspenso.
Subestao: parte das instalaes eltricas da unidade consumidora
atendida em tenso primria de distribuio que agrupa os
equipamentos, condutores e acessrios destinados proteo, medio,
manobra e transformao de grandezas eltricas.
Subestao transformadora compartilhada: subestao particular
utilizada para fornecimento de energia eltrica simultaneamente a duas
ou mais unidades consumidoras.
Tarifa: preo da unidade de energia eltrica e/ou da demanda de
potncia ativas.
Tarifa monmia: tarifa de fornecimento de energia eltrica constituda
por preos aplicveis unicamente ao consumo de energia eltrica ativa.
Tarifa binmia: conjunto de tarifas de fornecimento constitudo por
preos aplicveis ao consumo de energia eltrica ativa e demanda
faturvel.
10
33
CAPTULO 2 INTRODUO AO SISTEMA ELTRICO DE POTNCIA
11
Tarifa de ultrapassagem: tarifa aplicvel sobre a diferena positiva entre
a demanda medida e a contratada, quando exceder os limites
estabelecidos.
Tenso secundria de distribuio: tenso disponibilizada no sistema
eltrico da concessionria com valores padronizados inferiores a 2,3
kV.
Tenso primria de distribuio: tenso disponibilizada no sistema
eltrico da concessionria com valores padronizados iguais ou
superiores a 2,3 kV.
Unidade consumidora: conjunto de instalaes e equipamentos eltricos
caracterizado pelo recebimento de energia eltrica em um s ponto de
entrega, com medio individualizada e correspondente a um nico
consumidor.
Valor lquido da fatura: valor em moeda corrente resultante da
aplicao das respectivas tarifas de fornecimento, sem incidncia de
imposto, sobre as componentes de consumo de energia eltrica ativa, de
demanda de potncia ativa, de uso do sistema, de consumo de energia
eltrica e demanda de potncia reativas excedentes.
Valor mnimo faturvel: valor referente ao custo de disponibilidade do
sistema eltrico, aplicvel ao faturamento de unidades consumidoras do
Grupo B, de acordo com os limites fixados por tipo de ligao.
Carga Eltrica: Conjunto de valores das grandezas eltricas que
definem as solicitaes impostas a um equipamento eltrico, tais como:
transformadores, motores, etc.
Falta Eltrica: Contato ou arco acidental entre partes sob potenciais
diferentes e ou uma ou mais dessas partes para terra, em um sistema ou
equipamento energizado.
11
34
CAPTULO 2 INTRODUO AO SISTEMA ELTRICO DE POTNCIA
12
Curto-circuito: Ligao intencional ou acidental entre dois ou mais
pontos de um circuito atravs de uma pequena impedncia.
Sobrecarga: Corrente que excede, ligeiramente, o valor nominal de um
equipamento.
Corrente de Curto: Corrente que excede muitas vezes, o valor nominal
de um equipamento.
Os aspectos anteriores preocuparam-se to somente em definir e conceituar
as principais grandezas eltricas (demanda, energia, etc.) necessrias
compreenso do tema proposto. No entanto, no se reportou em nenhum
instante os conceitos e definies envolvendo as sobretenses devido s
descargas atmosfricas e quelas oriundas de chaveamentos. Desta forma,
neste item, apresentar-se-, resumidamente, a ttulo de informao alguns
aspectos eltricos inerentes aos fenmenos citados.
3 SOBRETENSES E COORDENAO DE ISOLAMENTO
a) Origem e Classificao das Sobretenses
As redes eltricas esto sujeitas a vrias formas de fenmenos transitrios,
envolvendo variaes sbitas de tenso e corrente provocadas por
descargas atmosfricas, faltas no sistema ou operao de disjuntores ou
seccionadoras.
De uma forma genrica, os estudos realizados com a finalidade de obteno
dos valores referentes aos fenmenos transitrios, so necessrios para a
especificao dos equipamentos de um sistema eltrico. Esses estudos so
denominados de sobretenses. Na prtica, alm dos valores das possveis
12
35
CAPTULO 2 INTRODUO AO SISTEMA ELTRICO DE POTNCIA
13
sobretenses nos terminais dos equipamentos, tambm de interesse a
determinao das sobrecorrentes. Os clculos das correntes transitrias,
tambm so necessrias para a verificao dos esforos trmicos e
mecnicos nos equipamentos e barramentos de uma subestao.
As sobretenses podem ser classificadas de uma forma bem ampla em dois
grupos: sobretenses externas ou internas, conforme a causa que as
provocam seja de origem externa ou interna ao sistema eltrico.
As sobretenses atmosfricas so caracterizadas por uma frente de onda de
alguns microsegundos a poucas dezenas de microssegundos e so
provocadas principalmente por descargas atmosfricas. Uma sobretenso
de qualquer outra origem, que tenha caracterstica de frente de onda
similares quelas utilizadas para a definio das sobretenso atmosfrica,
tambm classificada como sobretenso atmosfrica. A figura 3 apresenta
um exemplo tpico de uma sobretenso atmosfrica. A figura 4 apresenta
um exemplo tpico de uma sobretenso de manobra fortemente amortecida.
KV
Va
0,9 Va
0,5 Va
0,3 Va
1,2
50
Figura 3 - Sobretenso atmosfrica tpica;
13
36
CAPTULO 2 INTRODUO AO SISTEMA ELTRICO DE POTNCIA
14
Observa-se na figura 3 um valor de sobretenso elevado, atingindo o pico
em torno de 1,2 s, reduzindo a sobretenso a metade aps 50 s.
KV
1000
600
200
2
10
Figura 4 - Sobretenso tpica de manobra fortemente amortecida;
Observa-se na figura 4, que a sobretenso atingiu aproximadamente
1000kV em 2 s, enquanto que decorridos 10s, a sobretenso foi reduzida
para 800 kV. Isto se justifica pelo forte amortecimento sofrido pela
sobretenso.
b) Caractersticas dos Isolamentos
Os isolamentos, de uma forma geral, abrangem os espaamentos no ar, os
isolamentos slidos e os imersos em lquido isolante. De acordo com a
finalidade a que se destinam, so classificados como sendo para uso
externo e interno, conforme se utilizam: em instalaes sujeitas a agentes
externos como umidade, poluio, intempries, etc., ou para uso interno.
Alm dessa classificao, de ordem geral, existe outra, do ponto de vista de
isolamento. Os isolamentos podem ser: auto-regenerativos, que so os que
tm capacidade de recuperao de sua rigidez dieltrica aps a ocorrncia
de uma descarga causada pela aplicao de uma tenso de ensaio; ou noregenerativos, que so aqueles que no tm a capacidade de recuperao de
14
37
CAPTULO 2 INTRODUO AO SISTEMA ELTRICO DE POTNCIA
15
sua rigidez dieltrica. Havendo uma descarga, h danificao parcial ou
total do isolamento no-regenerativo.
c) Nveis de Isolamento dos Equipamentos
O nvel de isolamento de um equipamento o conjunto de tenses
suportveis nominais, aplicadas ao equipamento durante os ensaios e
definidas em norma especfica para esta finalidade, que define sua
caracterstica de isolamento.
As tenses definidas em norma, a serem aplicadas nos ensaios para
comprovar o nvel de isolamento de um equipamento, so as seguintes:
tenso suportvel nominal frequncia industrial de curta
durao, geralmente 1 minuto. Esta grandeza eltrica tambm
conhecida como tenso aplicada.
tenso suportvel nominal de impulso de manobra (atmosfrico).
A tenso suportvel nominal frequncia industrial de curta durao, o
valor eficaz especificado da tenso frequncia industrial que um
equipamento deve suportar em condies de ensaio especificadas e durante
um perodo de tempo, geralmente no superior a 1 minuto.
A tenso suportvel nominal de impulso de manobra (ou atmosfrica) o
valor de crista especificado de uma tenso suportvel de impulso de
manobra, que caracteriza o isolamento de um equipamento no que concerne
aos ensaios de tenses suportveis. As tabelas 1 e 2 ilustram os nveis de
isolamento normalizados em funo da classe de tenso de um
equipamento.
15
38
CAPTULO 2 INTRODUO AO SISTEMA ELTRICO DE POTNCIA
16
Tabela 1 Nveis de isolamento normalizados para 1kV < Um 52 kV (NBR 6949);
Tenso mxima do equipamento
Um (kV valor eficaz)
Tenso suportvel nominal de
Tenso suportvel nominal frequncia
impulso atmosfrico (kV valor da industrial durante 1 minuto (kV valor
crista) NBI
eficaz)
20
3,6
10
40
40
7,2
20
60
95
15
34
110
125
25,8
60
150
170
38
80
200
48,3
105
250
Tabela 2 Nveis de isolamento normalizados para 52kV < Um 300kV (NBR 6949);
Tenso mxima do
Equipamento Um
(kV valor eficaz)
Base para os valores Tenso Suportvel Nominal Tenso Suportvel Nominal
em p.u.
de Impulso Atmosfrico
Frequncia Industrial
(kV valor de crista)
durante 1 minuto
2
NBI
(kV
valor de crista)
Um
(kV valor de crista)
72,5
59
325
141
92,4
75
380
150
450
185
550
230
650
275
750
325
850
360
950
395
1050
460
145
242
118
200
16
39
CAPTULO 2 INTRODUO AO SISTEMA ELTRICO DE POTNCIA
17
As normas de coordenao do isolamento, inclusive a NBR- 6939 tm por
objetivos fixar os nveis de isolamento dos equipamentos e estabelecer
diretrizes para a elaborao de especificaes e mtodos de ensaios de
equipamentos.
Os ensaios so realizados de acordo com os procedimentos estabelecidos
nas normas pertinentes e tm por objetivo verificar se um equipamento est
em conformidade com as tenses suportveis nominais que determinam o
seu nvel de isolamento. Para cada tipo de ensaio e cada tipo de
equipamento, a norma do equipamento considerado especifica os mtodos
para detectar falha no isolamento e os critrios que permitem afirmar ter
ocorrido falha no isolamento, durante os ensaios. Sempre que possvel, os
ensaios devem ser feitos de acordo com as recomendaes constantes das
normas pertinentes. No entanto, pequenos desvios so admissveis em
funo de caractersticas especiais de um tipo particular de equipamento,
desde que os nveis de isolamento normalizados no sejam modificados. Os
ensaios nos equipamentos novos podem ser de tipo ou de rotina,
dependendo da finalidade a que se destinam. Os ensaios de tipo tm a
finalidade de verificar a conformidade de uma determinada caracterstica
de projeto de um equipamento eltrico, ou de um componente, com a sua
respectiva especificao. Os ensaios de rotina tm a finalidade de verificar
se determinado equipamento, ou componente, est em condies adequadas
de funcionamento ou de utilizao, de acordo com a respectiva
especificao. Basicamente, o ensaio de tipo realizado num prottipo, ou
numa amostra, e o ensaio de rotina realizado no equipamento, ou seo j
pronto para entrega.
17
40
CAPTULO 2 INTRODUO AO SISTEMA ELTRICO DE POTNCIA
18
d) Princpios Bsicos de Coordenao de Isolamento
Denomina-se coordenao de isolamento ao conjunto de procedimentos,
utilizados principalmente para a especificao de equipamentos, que tem
por objetivo fundamental a reduo, a uma nvel econmico e
operacionalmente aceitvel, a probabilidade de falhas nos equipamentos ou
no fornecimento de energia, levando-se em considerao as solicitaes
que podem ocorrer no sistema e as caractersticas dos dispositivos de
proteo. Esses componentes para efeito de coordenao de isolamento de
subestaes, so os pra-raios, escoando para a terra parte da corrente
proveniente da sobretenso devido ao desempenho que tem no controle das
sobretenses, tanto do tipo de manobra quanto atmosfricas.
Atravs do estudo da coordenao de isolamento que envolve a
determinao das sobretenses, as quais os equipamentos estaro
submetidos, seguida de seleo conveniente das suportabilidades eltricas,
considerando-se as caractersticas dos dispositivos de proteo disponveis.
As concessionrias definem os valores da NBI normal e reduzido na SE.
Nestas condies, as margens mnimas recomendadas pela NBR-8186 so
as seguintes: 20% e 40% para equipamentos da faixa A, conforme mostra a
tabela 1.
e) Espaamentos Eltricos e Distncias de Segurana
Em adio aos estudos de coordenao de isolamento para a determinao
dos nveis de isolamento dos equipamentos das subestaes, so definidos
estudos para a determinao dos espaamentos eltricos mnimos e das
distncias de segurana no interior da subestao.
Os espaamentos eltricos numa subestao, ao contrrio dos equipamentos
no podem ser ensaiados a impulsos e, providncias devem ser adotadas
18
41
CAPTULO 2 INTRODUO AO SISTEMA ELTRICO DE POTNCIA
19
para evitar que ocorram descargas no isolamento, em tenses inferiores
quelas para as quais os equipamentos foram especificados.
Com base em ensaios de laboratrio de diversas configuraes de eletrodo,
so obtidas informaes sobre o espaamento requerido para suportar um
determinado impulso aplicado, as quais devem ser utilizadas para o
estabelecimento das distncias eltricas mnimas na subestao.
A NBR-8186 apresenta a Tabela 6, no anexo F, as informaes sobre os
espaamentos e valores de tenso suportvel a impulso atmosfrico, a qual
reproduzida na Tabela 3.
Alm das definies dos nveis de isolamento dos equipamentos, em
funo das tenses nominais e NBI, so estabelecidas as distncias
mnimas entre condutores-terra.
Tabela 3 - Correlao entre o nvel de isolamento e o espaamento mnimo fase-terra no
ar para tenses suportveis nominais de impulso atmosfrico at 750 kV
Tenso Suportvel Nominal de Impulso Atmosfrico Espaamento Mnimo Fase-Terra no Ar
(kV)
(mm)
40
60
60
90
95
160
110
200
125
220
150
280
170
320
200
380
250
480
325
630
380
750
450
900
550
1100
650
1300
750
1500
19
42
CAPTULO 2 INTRODUO AO SISTEMA ELTRICO DE POTNCIA
20
f) Distncia entre Escoamento de Buchas e Isoladores
A complementao dos estudos de coordenao de isolamento realizada
selecionando-se as distncias de escoamento das superfcies isolantes
(isoladores) expostas ao meio ambiente, como as porcelanas das buchas e
isoladores.
Para estes isolantes, a solicitao mais importante a tenso nominal de
operao, a qual est continuamente aplicada e que sensvel ao efeito das
condies ambientais.
O comportamento destes isolantes bastante influenciado pela umidade e
densidade do ar. Pois, na presena de substncia poluentes, h reduo da
suportabilidade do isolante tenso na freqncia industrial.
Em condies ambientais limpas, a corrente de fuga pela superfcie da
porcelana da ordem de miliampres, tendendo a aumentar devido
contaminao desta superfcie por depsitos de sal, resduos qumicos ou
poeira. Este fenmeno ainda agravado quando a superfcie contaminada
umedecida por chuva fina ou orvalho, criando camadas de maior
condutividade e propiciando a ocorrncia de descargas atravs do
isolamento.
A tabela 4 a seguir, ilustra o exposto.
20
43
CAPTULO 2 INTRODUO AO SISTEMA ELTRICO DE POTNCIA
21
Tabela 4 Escala Provisria dos nveis de poluio naturais.
Nvel de Poluio
Desprezvel
Leve
Forte
Muito Forte
Ambiente Caracterstico
Distncia de Escoamento
Admitida
(mm/kV eficaz)
reas sem indstria e reas com baixa
densidade de indstria, mas sujeitas a ventos
e/ou
chuvas
freqentes.
As
reas
classificadas neste nvel devem estar
localizadas longe do mar ou em altitudes
elevadas e em nenhum caso podem estar
sujeitas a ventos martimos.
reas com indstrias que no produzam
fumaa particularmente poluente, reas com
alta densidade de indstrias mas sujeitas a
frequentes ventos limpos e/ou chuvas e reas
sujeitas a vento martimos mas no muito
prximas da costa (afastadas no mnimo 1
km).
reas com alta densidade de indstrias
produzindo poluio, reas prximas ao mar
e de algum modo expostas a ventos
martimos relativamente fortes.
reas geralmente de moderada extenso,
sujeitas a fumaas industriais, produzindo
camada condutora razoavelmente espessa,
reas geralmente de moderada extenso
muito prximas da costa e expostas a ventos
martimos muito fortes e poluentes.
16
20
25
31
A ttulo de ilustrao, mostra-se um exemplo de clculo da distncia de
isolao:
Exemplo: Para uma subestao em 138 kV, situada numa regio de
poluio leve, a quantidade de isoladores necessrios em cada ponto de
aplicao dos mesmos obtida da equao:
no isoladores = 1,05 . V/d
no isoladores = 1,05.
138
8 isoladores
20
21
44
CAPTULO 2 INTRODUO AO SISTEMA ELTRICO DE POTNCIA
22
onde:
V = tenso nominal (kV)
d = distncia de escoamento admitida em mm/kV
Como concluso ao se elaborar uma oferta de uma subestao, em relao
coordenao de isolamento, deve-se considerar:
O NBI dos equipamentos em funo da tenso nominal (classe de
tenso) da subestao;
As distncias entre condutores, definindo a rea/lay out da subestao;
A quantidade de isoladores em funo das caractersticas do ambiente.
4 NOES DE SUBESTAES
4.1 CONCEITUAO
Uma subestao pode ser definida como sendo um conjunto de
equipamentos
com
propsito
de
chaveamento,
transformao,
proteo ou regulao da tenso eltrica, ou ainda instalao eltrica
destinada alterao conveniente das caractersticas de energia
eltrica ou manobras de circuitos eltricos de potncia
Destinam-se basicamente a:
Suprimento de energia eltrica a consumidores;
Seccionamento de circuitos eltricos, necessrios estabilidade
dos sistemas eltricos.
22
45
CAPTULO 2 INTRODUO AO SISTEMA ELTRICO DE POTNCIA
23
Nestes seccionamentos h normalmente uma redistribuio de energia
proveniente de vrias fontes de gerao e destinadas aos vrios centros de
carga a serem supridos.
Podero ainda ser conceituadas em funo do nvel de tenso de operao,
como por exemplo:
Extra Alta Tenso (EAT) acima de 345kV, destinadas
basicamente ao seccionamento dos sistemas de transmisso;
Alta Tenso (AT) de 69kV a 230kV, destinadas ao
seccionamento dos sistemas de subtransmisso e subestaes
transformadoras, as quais so construdas para o atendimento de
carga localizada, normalmente subestaes abaixadoras de tenso
eltrica.
A funo ou tarefa mais importante das subestaes garantir a
continuidade com a mxima segurana de operao e confiabilidade dos
servios a todas as partes componentes dos sistemas eltricos. As partes
defeituosas ou sob falta devem ser desligadas imediatamente e o
abastecimento de energia deve ser restaurado por meio de comutaes ou
manobras.
Consequentemente, a escolha das ligaes quando do planejamento de uma
subestao, assume um significado especial e deve ser realizada
estritamente de acordo com o planejamento do sistema eltrico.
Em sistemas eltricos interligados, por exemplo, que possuem uma rede de
distribuio secundria, a falta de uma subestao de distribuio no
resulta em uma falta de alimentao. Para tais subestaes, no necessrio
um alto investimento em sua construo. Por outro lado, em redes radiais,
23
46
CAPTULO 2 INTRODUO AO SISTEMA ELTRICO DE POTNCIA
24
quando da desenergizao da subestao de alimentao principal, todos os
consumidores ficariam simultaneamente sem energia.
Deve-se considerar ainda o fato da rede possuir circuitos singelos ou
duplos. No caso de circuitos singelos, a segurana das subestaes
alimentadoras deve ser particularmente considerada, com a possvel
instalao de um barramento auxiliar.
4.2 SUBESTAES PRINCIPAIS
o espao fsico destinado aos equipamentos e estruturas eletromecnicas
que, interligados dentro de uma determinada configurao, recebem energia
em um dado nvel de tenso proveniente de gerao prpria ou de
concessionria, e transmitem para pontos de utilizao ou pontos de
transferncia em outro nvel de tenso ou frequncia compatveis com o
sistema eltrico existente ou a ser instalado.
4.3 SUBESTAO UNITRIA
Local destinado a receber a energia eltrica proveniente da subestao
principal e transmitir s unidades eltricas industriais de produo em
nveis de tenso e frequncia compatveis.
4.4 - TIPOS DE SUBESTAO
Os projetos de subestao podero ser elaborados segundo trs tipos
bsicos, de acordo com a maneira de instalar, ou seja:
Subestao ao tempo;
Subestao semi-abrigada;
24
47
CAPTULO 2 INTRODUO AO SISTEMA ELTRICO DE POTNCIA
25
Subestao abrigada.
a) Subestao ao Tempo
So aquelas instaladas ao ar livre, cujos equipamentos ficaro sujeitos a
intempries.
b) Subestao semi-abrigada
So aquelas providas somente de cobertura em toda extenso do ptio de
manobra.
c) Subestao abrigada
So instaladas em locais abrigados, cujos equipamentos no esto sujeitos a
intempries.
5 PLANTA INDUSTRIAL
As figuras 5, 6, 7 e 8 mostram esquematicamente as configuraes de
plantas industriais e a forma de participao da Schneider:
Entrada de energia em AT, sem subestaes unitrias;
Entrada de energia em AT, com subestaes unitrias;
Entrada de energia em MT, sem subestaes unitrias;
Entrada de energia em MT, com subestaes unitrias.
25
48
CAPTULO 2 INTRODUO AO SISTEMA ELTRICO DE POTNCIA
26
PONTO DE ENTRADA DA
CONCESSIONRIA
ESCOPO DO
TURN-KEY
AT
SUBESTAO
CASA DE COMANDO
PN PROTEO E CONTROLE
PN CA/CC
RETIF / BATERIAS
PAINIS MT
MT
PRINCIPAL
MT
MT
POSSVEL IMPLATAO
UNIDADE INDUSTRIAL
PRODUO PAINIS MT/BT
DA SCHNEIDER COM O
FORNECIMENTO
DE
PAINIS
Figura 5 Entrada de energia em AT sem Subestao unitria;
PONTO DE ENTRADA DA
CONCESSIONRIA
ESCOPO DO
TURN-KEY
AT
CASA DE COMANDO
PN PROTEO E CONTROLE
PN CA/CC
RETIF / BATERIAS
SUBESTAO
MT
PRINCIPAL
MT
SE UNITRIA
PAINIS MT/BT
MT
SE UNITRIA
PAINIS MT/BT
MT
MT
SE UNITRIA
PAINIS MT/BT
MT
MT
Fornecimento dos
Equipamentos e
Instalao
Figura 6 Entrada de energia em AT com Subestao unitria;
26
49
CAPTULO 2 INTRODUO AO SISTEMA ELTRICO DE POTNCIA
27
MT
ESCOPO DO
TURN-KEY
SUBESTAO
PRINCIPAL
CABINE DE
FORA + MEDIO
Figura 7 Entrada de energia em MT sem Subestao unitria;
MT
ESCOPO DO
TURN-KEY
SUBESTAO
PRINCIPAL
MT/BT
MT/BT
MT/BT
Figura 8 Entrada de energia em MT com Subestao unitria;
Deve-se salientar que, os custos esto intimamente ligados escolha do
tipo de subestao a ser utilizado. Assim, os requisitos tcnicos exigidos
para uma subestao so proporcionais aos custos de investimento.
27
50
CAPTULO 2 INTRODUO AO SISTEMA ELTRICO DE POTNCIA
28
6 EQUIPAMENTOS DE PTIO
Podem ser classificados dentro de dois grupos:
Equipamentos de manobra;
Equipamentos de transformao.
6.1 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA
Enquadram-se disjuntores e chaves seccionadoras, e podem ser ainda
classificados como:
Ativo disjuntores, visto que pode manobrar em carga normal ou
defeito. Esta manobra poder ser comandada pelo operador, a
partir das chaves de comando instaladas nos painis de comando
da subestao ou no prprio disjuntor, ou automaticamente, para
defeitos, atravs de rels de proteo;
Passivo Seccionadoras, as quais normalmente no podem fazer
manobras em carga.
6.2 EQUIPAMENTOS DE TRANSFORMAO
So equipamentos de transformao das caractersticas eltricas de tenses
e correntes, proteo de outros equipamentos surtos de tenso e
equipamentos para comunicao.
Neste item enquadram-se os transformadores de potncia, transformadores
de potencial (TP), transformador de corrente (TC), pra-raios, filtros de
28
51
CAPTULO 2 INTRODUO AO SISTEMA ELTRICO DE POTNCIA
29
onda (bobina de bloqueio) e reguladores de tenso. Podem ser ainda
includos, os reatores e capacitores, os quais se destinam melhoria da
regulao das linhas de transmisso possibilitando um melhor rendimento
dos sistemas a que esto conectados.
6.3 EQUIPAMENTOS DE COMANDO, CONTROLE E
PROTEO
Destinam-se superviso dos sistemas eltricos. Conectados aos
secundrios de TPs E TCs tomam uma imagem do que ocorre
eletricamente nos circuitos onde esto ligados os equipamentos.
6.4 EQUIPAMENTOS DE COMANDO
Destinam-se ao acionamento de disjuntores e chaves seccionadoras. Podem
ainda ser vistos como:
Local ou remoto em funo de sua localizao em relao ao
equipamento a ser acionado;
Manual ou automtico em funo da necessidade ou no da
participao do operador.
6.5 EQUIPAMENTOS DE CONTROLE
Destinam-se superviso dos sistemas eltricos. Sendo estes:
Indicadores de tenso, corrente, potncia ativa e reativa,
temperatura, freqncia;
Medidores de controle e faturamento;
Registradores grficos de tenso, corrente, potncia ativa e
reativa, temperatura;
29
52
CAPTULO 2 INTRODUO AO SISTEMA ELTRICO DE POTNCIA
30
Registradores de defeitos (oscilgrafos);
Anunciadores ticos e acsticos;
Localizadores de defeitos;
Etc.
6.6 EQUIPAMENTOS DE PROTEO
Compreende principalmente os rels de proteo que podem ser divididos
em funo da sua aplicabilidade:
Rels de sobrecorrente e rels de sobrecorrente direcional;
Rels de distncia;
Rels de sobretenso;
Rels diferenciais;
Rels de religamento;
Etc.
30
53
CAPTULO 3
CONFIGURAES TPICAS DE SUBESTAES
54
CAPTULO 3 CONFIGURAES TPICAS DE SUBESTAES
CONFIGURAES TPICAS DE SUBESTAES
1 INTRODUO
Para o desenvolvimento de qualquer projeto de uma instalao eltrica, deve-se
representar todos os seus componentes de tal forma a se obter uma viso global
de toda a instalao, tanto sob o aspecto de disposio e localizao no sistema
eltrico, como de suas funes.
A representao grfica de um sistema eltrico de potncia, ou os diagramas
eltricos, deve conter a maior quantidade possvel de informaes, com o
objetivo de representar os componentes e as suas funes especficas.
Consequentemente, vrios so os diagramas eltricos que se tornaram os mais
usuais, os quais so analisados na sequncia deste captulo.
2 DIAGRAMAS ELTRICOS
2.1 DIAGRAMA UNIFILAR
Trata-se da representao mais usual na anlise de um sistema eltrico. um
diagrama onde se representa o circuito eltrico por uma de suas fases,
destacando-se as partes de fora do sistema (aqueles que se destinam conduo
da energia), sem contudo entrar em detalhes da forma de conexo, ajustes,
comando, etc. Na figura 1a pode-se observar a representao unifilar do
diagrama de blocos representado na figura 1, enquanto que a figura 1b, mostra
um diagrama eltrico tpico de uma subestao.
55
CAPTULO 3 CONFIGURAES TPICAS DE SUBESTAES
2.2 - DIAGRAMA TRIFILAR
a representao de um circuito eltrico, levando-se em considerao as suas
trs fases, sendo importante como subsdio para a elaborao dos demais
esquemas de detalhamento de um determinado projeto. O diagrama trifilar, alm
de conter as informaes bsicas do diagrama unifilar, contm muitos outros
detalhes, que sero inclusive transportados a outros esquemas, dando uma
excelente idia de conjunto. Na figura 2, pode ser ilustrado a representao do
diagrama trifilar tomando-se como base o diagrama da figura 1a.
(a)
56
CAPTULO 3 CONFIGURAES TPICAS DE SUBESTAES
MEDIO COM DUPLA
ALIMENTAO
DISJUNTOR
DISJUNTOR
ENTRADA AREA
ENTRADA AREA
C
3 TPs
2 TCs
MEDIO
67
3 TPs
2 TCs
3 TCs
50
51
67 N
MEDIO
50 N
51
50 N
51
67 N
50
51
67
3 TCs
3 TPs
TPs PARA PROTEO DIRECIONAL
PONTO DE LIGAO
67
B
PONTO DE ENTRADA
RAMAL DE LIGAO
RAMAL DE ENTRADA
RAMAL DE SERVIO
REL DE SOBRECORRENTE DE FASE
COM ELEMENTOS INSTANTNEO E
TEMPORIZADOS DIRECIONAIS.
REL DE SOBRECORRENTE DE NEUTRO
67 N COM ELEMENTOS INSTANTNEO E
TEMPORIZADOS DIRECIONAIS.
50
51
REL DE SOBRECORRENTE DE FASE
INSTANTNEO E TEMPORIZADOS.
PARA-RAIO, TIPO ESTAO 10 kA
TRANSFORMADOR DE
CORRENTE
50 N REL DE SOBRECORRENTE DE TERRA
51
INSTANTNEO E TEMPORIZADOS.
DISJUNTOR
TRANSFORMADOR DE
POTNCIAL
CONJUNTO TRIPOLAR DE CHAVES SECCIONADORAS C/
CHIFRES E ATERRAMENTO. C/ BLOQUEIO MECNICO
CONJUNTO TRIPOLAR DE CHAVES SECCIONADORAS DE
COMANDO SIMULTNEO
(b)
Figura 1 - Representao unifilar de uma subestao;
57
CAPTULO 3 CONFIGURAES TPICAS DE SUBESTAES
Figura 2 - Representao trifilar;
2.3 - DIAGRAMA DE IMPEDNICA
Quando se deseja analisar o comportamento de um sistema em condies
normais de carga ou durante a ocorrncia de um curto-circuito, o diagrama
unifilar deve ser transformado num diagrama de impedncias, mostrando o
circuito equivalente de cada componente do sistema, referido ao mesmo lado de
um dos transformadores.
Na figura 3, representa-se o diagrama de impedncia referente ao diagrama
unifilar mostrado na figura 1a.
Figura 3 - Diagrama de impedncias;
58
CAPTULO 3 CONFIGURAES TPICAS DE SUBESTAES
3 - ESTUDO E ESCOLHA DOS TIPOS DE DIAGRAMA EM
FUNO DAS CARGAS APLICAES
3.1 GENERALIDADES
O projeto de uma instalao realizado com maior facilidade com auxlio de um
diagrama de ligao, o qual completado no decorrer do surgimento de idias,
at que contenha todas as indicaes, assim como os dados tcnicos dos
aparelhos, do material, dos instrumentos e dos diversos equipamentos de
proteo.
Inicialmente, torna-se necessrio a definio de unidades funcionais, conhecidas
como bay's, podendo estes ser de linha, transformador e transferncia.
Os aparelhos de manobra que compem uma unidade funcional em ordem, so:
uma chave seccionadora de terra, que tem por finalidade o aterramento de linha
de transmisso quando das manutenes, sendo, portanto, um dispositivo de
segurana. Em seguida tem-se um disjuntor isolado por duas chaves
seccionadoras, uma de linha e outra de barramento.
Para a complementao da unidade funcional ("bay"), necessita-se de um praraios, e dos transformadores de potencial e de corrente para conexo dos
aparelhos de medio e proteo. A posio destes transformadores, pode ser
feita de dois modos:
a)
Entre a chegada de energia e o disjuntor colocado antes da
seccionadora de transferncia by pass, pois facilita a transferncia
da proteo para disjuntor de acoplamento;
59
CAPTULO 3 CONFIGURAES TPICAS DE SUBESTAES
b)
Entre o disjuntor e o barramento, conseguindo com isto a prpria
proteo pelo disjuntor.
Quanto disposio, deve-se colocar o transformador de corrente antes do
transformador de potencial, pois deste modo o transformador de corrente
protege o de potencial.
A figura 4 mostra as unidades funcionais de uma subestao.
60
CAPTULO 3 CONFIGURAES TPICAS DE SUBESTAES
Unidade
funcional
bay da
linha
CCP ( Comando, controle, proteo )
CCP
CCP
bay de
transferncia
bay de
transformador
II
Legenda:
Disjuntor
Seccionadora com lmina de terra
TC (transformador de corrente)
TP (transformador de potencial)
Transformador
Pra-rio
Seccionadora
Figura 4 Unidades Funcionais em uma Subestao;
61
CAPTULO 3 CONFIGURAES TPICAS DE SUBESTAES
3.2 - BARRAMENTO SINGELO (SIMPLES)
Representa o tipo bsico, sendo comumente empregado em subestaes de
distribuio. A figura 5 ilustra o diagrama bsico de uma subestao com
barramento singelo.
SADA / ENTRADA
DE LINHA
CCP
CCP
CCP
CCP
Figura 5 Diagrama Bsico Barramento Singelo;
As caractersticas mais importantes dos barramentos singelos so:
9 Boa visibilidade de instalao: com isto reduzido o perigo de manobras
errneas por parte do operador.
9 Reduzida flexibilidade operacional; em casos de distrbios ou manuteno
no barramento necessrio desligar toda a subestao.
9 Baixo custo de investimento (representa 88% de uma instalao idntica, em
138 KV, com barramento duplo).
62
CAPTULO 3 CONFIGURAES TPICAS DE SUBESTAES
10
9 Pela introduo de um seccionamento ao longo do barramento
(seccionamento longitudinal), de acordo com a Figura 6, onde so oferecidas
possibilidades adicionais de operao em grupo, limitaes de distrbios e
possibilidades de diviso da rede. Alm disto, os consumidores podem ser
alimentados no mnimo de duas maneiras diferentes. A operao com duas
tenses e frequncia tambm possvel.
CCP
CCP
CCP
CCP
Figura 6 Barramento singelo com seccionamento longitudinal;
Os barramentos singelos so utilizados em:
9 Subestaes transformadoras e de distribuio quando a segurana de
alimentao dos consumidores pode ser obtida por intermdio de
comutaes (redes interligadas formando malha por exemplo).
9 Em pontos da rede para os quais no h necessidade de fornecimento
contnuo (sem interrupo).
63
CAPTULO 3 CONFIGURAES TPICAS DE SUBESTAES
11
O sistema que utiliza barramento simples (singelo) com seccionamento ao longo
do mesmo, pode ser executado utilizando-se um disjuntor com seccionador
longitudinal. Assim, obtm-se o chamado barramento singelo com disjuntor de
acoplamento longitudinal desenhado na Figura 7.
CCP
Figura 7 Barramento singelo com disjuntor de acoplamento longitudinal;
Esta execuo oferece, ao contrrio daquela com seccionamento longitudinal,
uma conexo mais simples, fcil e com possibilidades de separao das diversas
partes, sem interrupo de servio. Oferece, ainda, a possibilidade de conexo
de uma bobina limitadora de corrente juntamente com o disjuntor. Uma
instalao com este tipo de conexo bsica, determina, portanto, uma maior
flexibilidade no que se refere s diversas possibilidades de operao. Esta
conexo encontrada, freqentemente, nas instalaes de consumo prprio de
usinas eltricas. Normalmente, em instalaes de mdia tenso de grande porte,
64
CAPTULO 3 CONFIGURAES TPICAS DE SUBESTAES
12
h necessidade imperiosa de se seccionar os barramentos por causa da presena
de altas correntes de curto-circuito. Esta separao perfeitamente possvel
quando se dispe de um disjuntor de acoplamento transversal.
A utilizao de bobinas limitadoras de corrente preferida quando se trata de
instalaes existentes e que deva ser ampliada; normalmente, esta ampliao
provoca o aumento excessivo das correntes de curto-circuito, tornando
necessrio a sua limitao. A Figura 8 ilustra os comentrios expostos acima.
S"K1 = 280 MVA
S"K 2 = 345 MVA
S"K 3 = 450 MVA
Ampliao
345 MVA
500 KVA
= 5%
345 MVA
500 KVA
= 5%
500 KVA
= 5%
SA FECHADA
I"K1 = 31 KA
I"K 2 = 31,42 KA
I"K3 = 31,87 KA
I"K1 = 44,85 KA
I"K 2 = 45,76 KA
I"K 3 = 46,71 KA
SA
Figura 8 Ampliao de uma subestao;
65
CAPTULO 3 CONFIGURAES TPICAS DE SUBESTAES
13
3.3 BARRAMENTO AUXILIAR
Os barramentos auxiliares identificados na figura 9, os quais normalmente esto
conectados ao barramento principal por intermdio de um disjuntor, oferecem
vantagem adicionais aos diagramas apresentados, a saber:
9 Livre possibilidade de manobra para qualquer disjuntor, sem desligamento de
derivao correspondente. Alta segurana de alimentao.
9 Conexo de derivao sem disjuntor e sem utilizao dos barramentos
principais.
9 Aumento de custos relativamente reduzido (aproximadamente 4% quando
comparado com uma subestao de 138 KV barramento duplo).
Este tipo de diagrama para subestaes tem aplicao em:
9 Pontos da rede, nos quais exigida alta segurana de alimentao (quando,
por exemplo, existe permanncia de circuitos singelos).
9 Em conexo com barramentos mltiplos, para localidades com forte poluio
de ar, quando a limpeza acarreta desligamentos frequentes.
66
CAPTULO 3 CONFIGURAES TPICAS DE SUBESTAES
14
Barramento principal
CSA
CSB
CSE
CSC
CSD
Barramento auxiliar
CL
CL
Figura 9 Barramento Auxiliar;
Observaes:
Normalmente os transformadores de corrente so colocados entre o
transformador e a chave seccionadora ou na sada de linha (circuitos A e
C) para que eles permaneam em servio mesmo durante a utilizao do
disjuntor auxiliar (acoplamento) no circuito de reserva. Deste modo, a proteo
do transformador pode ser facilmente comutada para o disjuntor de reserva
(auxiliar). Caso as linhas no tenham comprimento varivel, os transformadores
de corrente para as sadas de linha podem ser dispostos conforme indica o
circuito B da Figura 9. Com isto, pode-se comutar facilmente o rel de
distncia para o disjuntor de reserva. No seria prudente comutar os
67
CAPTULO 3 CONFIGURAES TPICAS DE SUBESTAES
15
transformadores de corrente, pois estes no podem trabalhar com o secundrio
aberto, mesmo por pouco tempo.
O barramento auxiliar em conexo com um sistema de barramentos duplos,
oferece uma grande segurana contra interrupes de fornecimento. Quase todas
as partes da instalao podem ser, consequentemente, comutadas sem tenso e
sem interrupo de fornecimento.
Em grande estaes transformadoras comum a previso de um grupo de
transformadores de reserva. Neste caso, suficiente coordenar o barramento
auxiliar com o circuito alimentador da linha. Entretanto, no caso em que todas as
linhas de alimentao deixam o barramento em uma mesma direo, os custos
so menores do que para um sistema de barramento adicional (barramento
duplo). Em conexo com um barramento singelo, esta soluo freqentemente
adotada tecnicamente mais vantajosa do que um barramento duplo.
Estas vantagens refletem-se principalmente na disposio dos equipamentos na
subestao, apresentando facilidades de manobra e visibilidade de instalao.
3.4 BARRAMENTO DUPLO
A figura 10 identifica o diagrama unifilar de uma subestao com barramento
duplo, enquanto que a figura 11 ilustra o diagrama esquemtico do barramento
duplo com o auxiliar.
A utilizao do barramento duplo recomendado nas seguintes situaes:
9 Instalaes de grande porte que operam com tenses e frequncias diferentes.
9 Fornecimento de energia para diversos consumidores a partir de uma nica
alimentao.
68
CAPTULO 3 CONFIGURAES TPICAS DE SUBESTAES
16
9 Onde o fornecimento de energia deve ser contnuo, sem sofrer qualquer
interrupo (por exemplo: durante a manuteno dos equipamentos da
instalao).
9 Impossibilidade de se fixar previamente a disposio das diversas derivaes
(entradas e sadas).
Barramento I
Barramento II
Figura 10 Barramento Duplo;
De uma forma geral, chega-se sempre a soluo empregando-se barramentos
duplos; esta escolha depende da natureza da instalao (tipo de acoplamento dos
barramentos, etc.). Em alguns casos, chega-se concluso da necessidade do
emprego de at 6 barramentos; como por exemplo em instalaes para consumo
prprio de usinas eltricas; pontos de unio de redes; reunio de diversos
consumidores com tarifas diferentes.
69
CAPTULO 3 CONFIGURAES TPICAS DE SUBESTAES
17
Barramento I
Barramento II
Barramento
auxiliar
Figura 11 Barramento duplo com barramento auxiliar;
Caractersticas dos barramentos duplos:
9 Liberdade de escolha das conexes para manobras;
9 Diviso racional de todos os circuitos em dois grupos, para limitao de
distrbios e diviso da rede;
9 Manuteno de um barramento, sem interrupo do fornecimento de energia
dos circuitos, os quais so conectados ao outro barramento;
70
CAPTULO 3 CONFIGURAES TPICAS DE SUBESTAES
18
9 Para a manuteno dos aparelhos de um circuito efetivamente necessrio
desligar essa alimentao. Caso seja prevista uma forma de construo
adequada, pode-se utilizar o disjuntor de acoplamento e o 2 barramento
como disjuntor de reserva daquele circuito. Com esta soluo, os aparelhos
so "jampeados" (curto-circuitados) com o auxlio de um cabo.
Observaes:
Um acoplamento livre, entre duas partes da rede, permite o uso de um disjuntor
com caractersticas nominais reduzidas. Somente o disjuntor de acoplamento
dimensionado ou especificado para a capacidade total de interrupo do curtocircuito.
Aplicao
9 Pontos de alimentao importantes, cuja sada de servio coloca um
consumidor em situao desfavorvel;
9 Interligao de dois sistemas importantes.
As Figuras 12, 13 e 14 caracterizam diversos tipos de acoplamentos utilizados
em conjunto com o sistema de barramentos duplos.
Figura 12 Acoplamento transversal ou disjuntor de transferncia;
71
CAPTULO 3 CONFIGURAES TPICAS DE SUBESTAES
19
Figura 13 Acoplamento transversal e secciomento longitudinal;
Figura 14 Acoplamento transversal e seccionamento longitudinal duplo;
Prefere-se a utilizao de uma terminologia prpria para caracterizar o
acoplamento entre duas partes distintas de uma subestao. Assim sendo, ser
utilizado, neste documento, termos tais como: disjuntor de acoplamento
longitudinal, quando a conexo feita em um mesmo barramento seccionado;
disjuntor de acoplamento transversal, quando a conexo feita entre dois
barramentos distintos.
A razo desta terminologia decorrente de uma forma definida para diferenciar
os diversos tipos de acoplamento ou transferncia. Assim sendo, poderia
igualmente utilizar um termo como disjuntor de transferncia, como usual na
maioria das publicaes especializadas.
72
CAPTULO 3 CONFIGURAES TPICAS DE SUBESTAES
20
3.5 - BARRAMENTO TRIPLO
Uma anlise da figura 15 mostra que tal construo barramento triplo muito
dispendiosa e somente aplicada em casos muito especiais. Suas principais
caractersticas e aplicaes so:
Caractersticas:
9 Elevada flexibilidade operacional;
9 Altos custos;
9 M visibilidade da instalao, o que pode levar o operador a executar
manobras indevidas.
Aplicao:
9 Somente em casos excepcionais, nos quais exigida uma operao contnua
em grupo, com quaisquer disposies das alimentaes;
9 O terceiro barramento utilizado durante uma manuteno;
9 Pontos de acoplamento, quando este for em grande nmero;
9 Instalaes de usinas eltricas.
73
CAPTULO 3 CONFIGURAES TPICAS DE SUBESTAES
21
Figura 15 Barramento triplo com seccionamento
longitudinal triplo e acoplamento completo;
3.6 SISTEMA COM DISJUNTOR EXTRAVEL
Este tipo de sistema aplicvel em subestaes, onde se exige economia de
espao. Esta configurao atualmente utilizada somente para nveis de tenso
at 138 kV. As figuras 16,17 e 18 identificam os diagramas unifilares de uma
alimentao com disjuntores extraveis.
Caractersticas:
9 Eliminao da chave seccionadora;
9 Intertravamento mais simples;
9 reas ou espaos de instalao reduzidos;
9 Barramentos duplos exigem dois disjuntores por circuito, consequentemente,
mais dispendiosos.
74
CAPTULO 3 CONFIGURAES TPICAS DE SUBESTAES
22
Aplicao:
9 Subestaes para instalao abrigada (interiores), com barramento singelo
para economia de espao (at 138 KV);
9 Subestaes para instalao abrigada (interiores), com barramento duplo,
com dois disjuntores, somente para extrema segurana de servio.
Figura 16 Sistema com disjuntores extraveis;
Apesar dos altos custos comparativos dessas instalaes, a tcnica de utilizao
dos disjuntores extraveis est sendo cada vez mais difundida, principalmente
em instalaes de mdia tenso (6 a 34,5 KV). A interligao de disjuntores e
transformadores de corrente em um mesmo carrinho no aconselhvel quando
existem diversificaes de correntes nos consumidores, pois seria necessrio
manter diversos disjuntores de reserva.
75
CAPTULO 3 CONFIGURAES TPICAS DE SUBESTAES
23
Figura 17 Disjuntores extraveis instalados juntamente com TP e TC;
Figura 18 Barramento duplo com disjuntores extraveis;
76
CAPTULO 3 CONFIGURAES TPICAS DE SUBESTAES
24
3.7 SISTEMA COM BARRAMENTOS EM ANEL
A figura 19 detalha o diagrama unifilar de uma subestao com barramento em
anel.
Caractersticas:
9 Um disjuntor pode sair de operao sem prejudicar o funcionamento normal
de instalao;
9 Todos os equipamentos localizados no anel devem ser dimensionados para a
maior corrente do anel (aproximadamente o dobro da corrente dos circuitos
derivados);
9 Sistema imprprio para grandes subestaes, porque no caso de desligamento
de dois disjuntores, podem sair de servio partes completas da instalao;
9 Pouca visibilidade da instalao e do fluxo de corrente.
Figura 19 Barramento em anel;
77
CAPTULO 3 CONFIGURAES TPICAS DE SUBESTAES
25
Aplicao:
Em regies onde existem predominncia norte americana, para instalaes de
mdio porte com at 6 derivaes.
Observaes:
a)
Caso os transformadores de corrente estejam situados dentro do anel
(disposio usual), quase toda a instalao fica coberta pela faixa de
proteo das derivaes. Somente o trecho entre o transformador de
corrente e o disjuntor correspondente fica fora desta proteo. Entretanto,
caso sejam instalados transformadores de corrente, em ambos os lados do
disjuntor, desta forma, a proteo fica assegurada.
b)
No se consegue com sistema em anel, as mesmas condies apresentadas
pelos barramentos mltiplos, como por exemplo: diviso da rede.
3.8 SISTEMAS COM DOIS DISJUNTORES
Caractersticas:
9 Enorme segurana de servio para toda a instalao;
9 Altos custos de investimentos (cerca de 160% referidos a uma subestao de
138 KV com barramentos duplos).
Aplicao:
Na Rssia, para pontos importantes de redes.
78
CAPTULO 3 CONFIGURAES TPICAS DE SUBESTAES
26
Figura 20 Sistema com dois disjuntores;
Observao:
Um desligamento seletivo de faltas nos barramentos, sem interrupo do
fornecimento, somente possvel se os barramentos esto em paralelo e com
religamento automtico.
A figura 20 esclarece os comentrios expostos.
3.9 SISTEMA COM "1 " DISJUNTORES
A figura 21 o diagrama esquemtico que associa a alimentao de subestaes
com o sistema chamado de 1 1/2 disjuntores.
Caractersticas:
9 Para cada dois circuitos existe um disjuntor de reserva, conseguindo-se
assim, grande segurana de servio;
79
CAPTULO 3 CONFIGURAES TPICAS DE SUBESTAES
27
9 Muitos disjuntores e seccionadoras devem ser especificados, para sustentar
uma corrente dupla do circuito derivado, quando do desligamento de um dos
disjuntores;
9 Construo dispendiosa e m visibilidade implicando em manobras
indevidas.
Aplicao:
Na Amrica do Norte, para pontos de redes com elevadas exigncias no que se
refere segurana de servio.
Figura 21 Sistema com "1 " disjuntores;
80
CAPTULO 3 CONFIGURAES TPICAS DE SUBESTAES
28
3.10 - SISTEMA COM CHAVE SECCIONADORA DE PASSAGEM (BY
PASS)
A figura 22 identifica a operao das subestaes com a possibilidade da
operao com chaves by pass.
Caractersticas:
9 Uma derivao pode ser mantida em servio tambm para o caso da
manuteno do seu disjuntor. A proteo, quando isso acontecer, assumida
por um outro disjuntor;
9 Seccionadores sob carga, instaladas no lugar das seccionadoras de passagem
(By pass) possibilitam ou facilitam a comutao (ligar/desligar) de linhas de
transmisso e transformadores a vazio;
9 Em conexo com barramentos duplos, o disjuntor de acoplamento pode
servir como reserva.
Figura 22 Sistema de barramentos duplos com acoplamento
transversal e seccionadora de passagem (by pass);
81
CAPTULO 3 CONFIGURAES TPICAS DE SUBESTAES
29
Aplicao:
Em conexo nos barramentos singelos para subestao de pequeno e mdio
portes (principalmente em pases de lngua inglesa).
82
CAPTULO 4
DIAGRAMAS UNIFILARES TPICOS DE ALGUMAS
CONCESSIONRIAS DE ENERGIA ELTRICA
83
CAPTULO 4 -
DIAGRAMAS UNIFILARES TPICOS DE ALGUMAS CONCESSIONRIAS
DE ENERGIA ELTRICA
DIAGRAMAS UNIFILARES TPICOS DE ALGUMAS
CONCESSIONRIAS DE ENERGIA ELTRICA
1 - INTRODUO
Estudou-se no captulo 3 que, em funo das necessidades, caractersticas
eltricas, segurana, confiabilidade, etc., a subestao definida a partir de um
diagrama eltrico que fixa o princpio de funcionamento da mesma,
caractersticas dos equipamentos de ptio, comando, controle e proteo.
Vrias so as possibilidades de funcionamento, e os diagramas unifilares podem
conter muitos tipos de configuraes, dentre os quais destacam-se:
Barra simples;
Barra simples seccionada;
Barra principal e barra de transferncia;
Barra dupla;
Barra dupla e barra de transferncia;
Barra dupla com by-pass;
Barra tripla;
Anel;
Anel duplo ou interligado;
Disjuntor e um tero;
Disjuntor e meio;
Disjuntor duplo.
84
CAPTULO 4 -
DIAGRAMAS UNIFILARES TPICOS DE ALGUMAS CONCESSIONRIAS
DE ENERGIA ELTRICA
Sob o ponto de vista tcnico, deve-se lembrar dos custos que esto intimamente
ligados escolha do tipo de subestao a ser utilizado, isto , todos os requisitos
tcnicos exigidos para uma subestao so proporcionais aos custos de
investimento. Neste sentido, este captulo tem por objetivo complementar o
anterior, mostrando os diagramas unifilares de algumas das principais
concessionrias. Desta forma o leitor passa a ter uma viso geral das
configuraes das subestaes brasileiras e realizar uma comparao entre as
mesmas.
1.1 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO (CERJ)
1.1.1 ESQUEMA UNIFILAR TPICO 1
a) Caractersticas Operacionais
O diagrama unifilar apresentado na figura 1 o arranjo mais simples de uma
subestao. Geralmente utilizada quando no h previso de expanso de carga
ou a unidade consumidora no ultrapassar o seu limite de demanda permitido
para a alimentao em mdia tenso.
Com base no unifilar, podese concluir que:
Qualquer defeito a montante do transformador implicar em desligamento da
subestao atravs do disjuntor;
A manuteno dos equipamentos implicar na desenergizao total da
subestao com a conseqente interrupo do funcionamento da planta
industrial.
b) Vantagens
rea reduzida para a subestao;
Projeto civil, eltrico, eletromecnico simples;
Estudos de proteo e seletividade simples;
85
CAPTULO 4 -
DIAGRAMAS UNIFILARES TPICOS DE ALGUMAS CONCESSIONRIAS
DE ENERGIA ELTRICA
Custo reduzido para implementao devido simplicidade e o nmero de
equipamentos envolvidos
c) Desvantagens
Interrupo de energia em caso de falhas dos equipamentos ou da
concessionria;
No permite a expanso do sistema.
PROTEO
52
MEDIO
Figura 1 Diagrama unifilar tpico da CERJ;
86
CAPTULO 4 -
DIAGRAMAS UNIFILARES TPICOS DE ALGUMAS CONCESSIONRIAS
DE ENERGIA ELTRICA
1.1.2 DIAGRAMA UNIFILAR TPICO 2
a) Caractersticas Operacionais
Esta configurao utilizada para entrada nica de energia alimentando dois
transformadores de fora, ou alimentando apenas um, com previso futura para
instalao de outro transformador.
Observa-se que este arranjo oferece maior flexibilidade e confiabilidade que a
configurao da figura 1. Cita-se a seguir algumas consideraes importantes
sobre o diagrama unifilar da figura 2:
Possibilidade de colocao dos transformadores em paralelo para
alimentao das cargas;
Alimentao por apenas um transformador, permanecendo o outro em stand
by, operando a vazio;
Manuteno de um transformador sem perda de alimentao de energia s
unidades de produo;
Na ocorrncia de uma falta interna no transformador, este pode ser colocado
fora de operao sem paralisar o fornecimento de energia eltrica, acessando
o primrio dos transformadores atravs de disjuntores.
Com a colocao de uma seccionadora by pass em paralelo com os
disjuntores, os mesmos podero ser colocados fora de operao para
manuteno, sem paralisao do fornecimento de energia eltrica. Neste
caso, a subestao ficar protegido somente pelos rels da concessionria;
b) Vantagens
Aumento da confiabilidade do sistema;
Maior flexibilidade no sistema, permitindo a ampliao de cargas;
87
CAPTULO 4 -
DIAGRAMAS UNIFILARES TPICOS DE ALGUMAS CONCESSIONRIAS
DE ENERGIA ELTRICA
Facilidade
de
manuteno
dos
equipamentos
sem
interrupo
do
funcionamento da planta industrial;
c) Desvantagens
Custo maior de implantao exigindo uma rea maior e um maior nmero de
equipamentos;
Projeto civil, eltrico e seletividade mais complexos;
No caso de manuteno do disjuntor de entrada, a subestao fica protegida
somente pela concessionria;
No caso de problemas na alimentao da concessionria a subestao estar
desenergizada.
52
I
PROTEO
52
PROTEO
I
MEDIO
52
PROTEO
Figura 2 Diagrama unifilar tpico da CERJ;
88
CAPTULO 4 -
DIAGRAMAS UNIFILARES TPICOS DE ALGUMAS CONCESSIONRIAS
DE ENERGIA ELTRICA
1.1.3 DIAGRAMA UNIFILAR TPICO 3
a) Aspectos operacionais
a-1) Entrada de energia
A subestao alimentada pelas linhas 1 e 2. Sendo alimentada pela 1, os
intertravamentos entre disjuntores no permitem o paralelismo com a linha 2.
No caso de defeitos nos equipamentos e/ou na alimentao da linha 1, a
subestao ser alimentada pela linha 2, conforme procedimentos operacionais a
serem confirmados com a concessionria. As figuras 3 e 4 ilustram os
comentrios realizados.
a-2) Bays dos transformadores
No lado primrio dos transformadores so colocados disjuntores ou
seccionadoras ou seccionadoras com chifres.
a-3) Seccionadoras
O arranjo com seccionadora o mais econmico, porm, no caso de uma falta
interna ou no, ser desligado o disjuntor de entrada, interrompendo o
fornecimento de energia. A seccionadora utilizada apenas para a manuteno
do transformador em questo, estando intertravada com o disjuntor da MT
localizada no painel da SE, assegurando a operao a vazio.
89
CAPTULO 4 -
DIAGRAMAS UNIFILARES TPICOS DE ALGUMAS CONCESSIONRIAS
DE ENERGIA ELTRICA
a-4) Seccionadoras com chifres
So solicitados pelo cliente e/ou concessionria, devido ao fato de terem a
capacidade de operar em vazio, mas com a corrente de magnetizao dos
transformadores sem desgaste dos plos principais.
a-5) Disjuntores
No caso de faltas no bay de transformador, o seu disjuntor ir operar, isolando o
circuito sem interromper o fornecimento de energia s outras cargas.
b) Vantagens
Aumento da confiabilidade e segurana do sistema;
Maior flexibilidade;
Alternativa de alimentao de energia subestao, no caso de defeito na
linha da concessionria;
Facilidade de manuteno dos equipamentos sem a interrupo do
funcionamento da planta industrial.
c) Desvantagens
Custo maior de implantao exigindo uma rea maior e um maior nmero de
equipamentos;
Projeto civil e seletividade mais complexos.
90
CAPTULO 4 -
DIAGRAMAS UNIFILARES TPICOS DE ALGUMAS CONCESSIONRIAS
DE ENERGIA ELTRICA
52
52
PROTEO
I
52
52
MEDIO
PROTEO
Figura 3 Diagrama unifilar tpico da CERJ;
91
CAPTULO 4 -
DIAGRAMAS UNIFILARES TPICOS DE ALGUMAS CONCESSIONRIAS
10
DE ENERGIA ELTRICA
52
PROTEO
52
52
MEDIO
PROTEO
Figura 4 Diagrama unifilar tpico da CERJ;
Com base na figura 3, para subestaes com dupla alimentao a CERJ permite
apenas o paralelismo temporrio para a troca de alimentao. Nestes casos a
concessionria solicita que o projeto seja submetido a aprovao, para que o
sistema permita o paralelismo temporrio atravs de disjuntores.
O paralelismo temporrio s poder ser utilizado quando houver tenso nos dois
ramais de alimentao, sendo para isto necessrio instalar um TP para cada
circuito, antes das seccionadoras de entrada.
92
CAPTULO 4 -
DIAGRAMAS UNIFILARES TPICOS DE ALGUMAS CONCESSIONRIAS
11
DE ENERGIA ELTRICA
Caso o consumidor no se interesse pelo paralelismo momentneo dever ser
previsto um intertravamento (eltrico ou mecnico) entre as duas seccionadoras
de entrada ou os dois disjuntores de modo que a entrada de um seja precedida da
abertura do outro.
Caso o consumidor deseje paralelismo continuamente nos dois circuitos de
alimentao, dever ser objeto de estudo especial por parte da CERJ.
1.2 ELETRICIDADE DE SO PAULO (ELETROPAULO)
Convm ressaltar que cada concessionria de energia eltrica, em funo dos
nveis de tenso de operao das subestaes a serem projetadas e construdas,
normalmente utiliza um determinado tipo de configurao.
evidente que medida que aumenta a flexibilidade operacional e a
confiabilidade da subestao, o custo de implantao da mesma tambm cresce.
Este item tem por finalidade apresentar, de uma maneira sucinta, a concepo de
uma subestao industrial envolvendo desde a entrada de energia em alta tenso
at a distribuio interna em mdia tenso, permitindo assim uma melhor
compreenso das fases da implantao do empreendimento e auxiliando os
engenheiros na elaborao das propostas tcnicas.
A ttulo de informao, o item subsequente apresenta algumas normas gerais de
operao recomendadas pela ELETROPAULO. Deve-se salientar que para as
93
CAPTULO 4 -
DIAGRAMAS UNIFILARES TPICOS DE ALGUMAS CONCESSIONRIAS
12
DE ENERGIA ELTRICA
outras concessionrias estas informaes esto contempladas nas normas
especficas de subestaes.
1.2.1 NORMAS GERAIS DE OPERAO
Visando orientar o consumidor em tenso de 88/138 kV, na escolha do esquema
que melhor corresponder sua necessidade, apresentamos a seguir as Normas
Gerais de Operao, que devero ser rigorosamente obedecidas pelos operadores
das estaes dos consumidores.
A ELETROPAULO mantm em funcionamento, durante as 24 horas do dia,
a sala de controle do Despacho da Carga, com o qual o pessoal autorizado
das estaes dos consumidores em 88/138 kV dever comunicar-se para todo
e qualquer entendimento relativo ao fornecimento de energia eltrica.
Os consumidores devero manter em suas estaes, nas 24 horas do dia,
pessoal habilitado para efetuar quaisquer manobras que esta concessionria
possa vir a solicitar.
A transferncia de alimentao nas estaes, de um ramal para outro, far-se-
nos seguintes casos:
I - Estaes com esquemas sugeridos nas figuras 5, 6, 7 e 9.
a-
A pedido da sala de controle do Despacho da Carga, a
qualquer instante, o mais rpido possvel, em condies de
emergncia.
b-
Por necessidade do consumidor, com autorizao da sala de
controle do Despacho da Carga.
C-
No caso da falta de tenso no ramal que estava alimentando a
estao. Caso a estao do consumidor no seja equipada com
94
CAPTULO 4 -
DIAGRAMAS UNIFILARES TPICOS DE ALGUMAS CONCESSIONRIAS
13
DE ENERGIA ELTRICA
dispositivo de transferncia automtica, as manobras para a
transferncia manual devero ser iniciadas 01(um) minuto aps a
ocorrncia do desligamento.
As manobras de transferncia de alimentao, na situao a e b, podero
ser executadas sem interrupo, somente se a estao do consumidor for
dotada de esquema de transferncia com paralelismo momentneo. Em
hiptese alguma ser permitida a transferncia manual sem interrupo,
ou seja, com paralelismo dos ramais.
II - Estaes com esquemas sugeridos na figura 8.
No caso de falta de tenso por mais de 2 minutos nos consumidores que
apresentarem um ramal nico, estes devero se comunicar imediatamente
com a sala de controle de Despacho da Carga.
Todos os servios de manuteno, programados pelo consumidor, que
necessitem o desligamento de um dos ramais ou de ambos que
alimentam a estao, devero ser solicitados ao Setor de Programao
do Despacho de Carga com antecedncia mnima de 15 dias e
confirmado por carta, telex ou fax encaminhado ao rgo supracitado
com at 10 dias de antecedncia do incio dos servios.
Os servios dos seccionadores de entrada ou nos demais equipamentos, no
lado dos ramais, somente podero ser executados aps o aterramento do
ramal correspondente. O aterramento ser executado pela ELETROPAULO
na data programada, obedecendo a rotina acima mencionada.
95
CAPTULO 4 -
DIAGRAMAS UNIFILARES TPICOS DE ALGUMAS CONCESSIONRIAS
14
DE ENERGIA ELTRICA
Dever ser comunicada, com a brevidade possvel, sala de controle do
Despacho da Carga.
a - Qualquer anormalidade que provoque o desligamento do disjuntor de
entrada nessa estao.
b - Qualquer manobra no(s) disjuntor(es) ou nos seccionadores de entrada.
c - Qualquer anomalia no fornecimento de energia eltrica, por parte da
ELETROPAULO.
Estas normas gerais de operao sero fornecidas aos consumidores sob forma
de Instrues para Manobras adaptadas s condies de cada estao, logo
aps a energizao, as quais devero ser rigorosamente obedecidas.
A seguir so apresentadas nas figuras de 5 a 10 as sugestes para diversas
configuraes no mbito da ELETROPAULO.
Figura 5 Sugesto para instalao da estao para 2 circuitos
areos na tenso nominal de 88/138 kV;
96
CAPTULO 4 -
DIAGRAMAS UNIFILARES TPICOS DE ALGUMAS CONCESSIONRIAS
15
DE ENERGIA ELTRICA
Figura 6 Sugesto para instalao da estao para 2 circuitos
areos na tenso nominal de 88/138 kV;
97
CAPTULO 4 -
DIAGRAMAS UNIFILARES TPICOS DE ALGUMAS CONCESSIONRIAS
16
DE ENERGIA ELTRICA
Figura 7 Sugesto para instalao da estao para 2 circuitos
areos na tenso nominal de 88/138 kV;
98
CAPTULO 4 -
DIAGRAMAS UNIFILARES TPICOS DE ALGUMAS CONCESSIONRIAS
17
DE ENERGIA ELTRICA
Figura 8 Sugesto para instalao da estao para 1 circuito
subterrneo (4 cabos) na tenso nominal de 88/138 kV;
99
CAPTULO 4 -
DIAGRAMAS UNIFILARES TPICOS DE ALGUMAS CONCESSIONRIAS
18
DE ENERGIA ELTRICA
Figura 9 Sugesto para instalao da estao para 2 circuitos
subterrneos na tenso nominal de 88/138 kV;
100
CAPTULO 4 -
DIAGRAMAS UNIFILARES TPICOS DE ALGUMAS CONCESSIONRIAS
19
DE ENERGIA ELTRICA
Figura 10 Esquema para a transferncia automtica e programada
com paralelismo momentneo das linhas;
101
CAPTULO 4 -
DIAGRAMAS UNIFILARES TPICOS DE ALGUMAS CONCESSIONRIAS
20
DE ENERGIA ELTRICA
A seguir mostra-se nas figuras subsequentes, a ttulo de comparao, as
informaes adicionais referentes aos arranjos tpicos das concessionrias
CEMIG, CPFL e CELCE.
102
CAPTULO 4 -
DIAGRAMAS UNIFILARES TPICOS DE ALGUMAS CONCESSIONRIAS
21
DE ENERGIA ELTRICA
1.3 COMPANHIA ENERGTICA DE MINAS GERAIS (CEMIG)
ENTRADA SIMPLES
BARRA SIMPLES
ENTRADA SIMPLES
BARRA DUPLA
Comunicao
Comunicao
Previso de Espao
Nota 3
Previso de Espao
Nota 3
Opcional
Opcional
PROTEO
PROTEO
MEDIO E
CONTROLE
MEDIO E
CONTROLE
MEDIO
FATURAMENTO
MEDIO
FATURAMENTO
Nota 1
Nota 1
T1
T1
T2
T2
1 Os equipamentos de medio de faturamento so fornecidos pela CEMIG ( TCs, TPs e
instrumentos de medio.
2 Quando no for prevista chave BY-PASS recomenda-se colocar a chave 89D nesta
posio, para facilitar manuteno nos equipamentos de medio.
3 Prever espao para instalao de capacitores de acoplamento e bobinas de bloqueio.
4 A seccionadora de entrada aterrada do lado da linha par questes de segurar a CEMIG e
principalmente porque as linhas da CEMIG so dedicadas ao consumidor.
5 Paralelismo momentneo para transferncia de alimentador autorizada mediante consulta e
aprovao.
6 Transferncia automtica autorizada mediante consulta e aprovao.
7 Entrada Dupla, obrigatrio o uso de disjuntores.
Figura 11 - Arranjos tpicos da CEMIG;
103
CAPTULO 4 -
DIAGRAMAS UNIFILARES TPICOS DE ALGUMAS CONCESSIONRIAS
22
DE ENERGIA ELTRICA
ENTRADA SIMPLES BARRA PRINCIPAL E TRANSFERNCIA
Comunicao
Previso de
Espao-Nota 3
Opcional
PROTEO
MEDIO E
CONTROLE
MEDIO
FATURAMENTO
Nota 1
BT
BP
1 Os equipamentos de medio de faturamento so fornecidos pela CEMIG ( TCs, TPs e
instrumentos de medio.
2 Quando no for prevista chave BY-PASS recomenda-se colocar a chave 89D nesta posio,
para facilitar manuteno nos equipamentos de medio.
3 Prever espao para instalao de capacitores de acoplamento e bobinas de bloqueio.
4 A seccionadora de entrada aterrada do lado da linha par questes de segurar a CEMIG e
principalmente porque as linhas da CEMIG so dedicadas ao consumidor.
5 Paralelismo momentneo para transferncia de alimentador autorizada mediante consulta e
aprovao.
6 Transferncia automtica autorizada mediante consulta e aprovao.
7 Entrada Dupla, obrigatrio o uso de disjuntores.
Figura 12 - Arranjos tpicos da CEMIG;
104
CAPTULO 4 -
DIAGRAMAS UNIFILARES TPICOS DE ALGUMAS CONCESSIONRIAS
23
DE ENERGIA ELTRICA
ENTRADA DUPLA - BARRA SIMPLES C/ CIRCUIT SWITCHER
Comunicao
Comunicao
Previso de
Espao-Nota 3
Previso de
Espao-Nota 3
Opcional
Opcional
89D
89D
PROTEO
PROTEO
MEDIO E
CONTROLE
MEDIO E
CONTROLE
MEDIO
FATURAMENTO
MEDIO
FATURAMENTO
Nota 1
Nota 1
Nota 2
Nota 2
T1
T2
T3
T4
1 Os equipamentos de medio de faturamento so fornecidos pela CEMIG ( TCs, TPs e
instrumentos de medio.
2 Quando no for prevista chave BY-PASS recomenda-se colocar a chave 89D nesta posio,
para facilitar manuteno nos equipamentos de medio.
3 Prever espao para instalao de capacitores de acoplamento e bobinas de bloqueio.
4 A seccionadora de entrada aterrada do lado da linha par questes de segurar a CEMIG e
principalmente porque as linhas da CEMIG so dedicadas ao consumidor.
5 Paralelismo momentneo para transferncia de alimentador autorizada mediante consulta e
aprovao.
6 Transferncia automtica autorizada mediante consulta e aprovao.
7 Entrada Dupla, obrigatrio o uso de disjuntores.
Figura 13 - Arranjos tpicos da CEMIG;
105
CAPTULO 4 -
DIAGRAMAS UNIFILARES TPICOS DE ALGUMAS CONCESSIONRIAS
24
DE ENERGIA ELTRICA
1.4 COMPANHIA PAULISTA DE FORA E LUZ (CPFL)
A
BARRAMENTO
BARRAMENTO
B
ENTRADA AREA
ENTRADA SUBTERRNEA
2 TCs
2 TCs
MEDIO
3 TCs
3 TPs
3 TPs
MEDIO
50 N
51
50 N
51
50
51
PONTO DE LIGAO
PONTO DE ENTRADA
RAMAL DE LIGAO
RAMAL DE ENTRADA
RAMAL DE SERVIO
PARA-RAIO, TIPO ESTAO 10 kA
TRANSFORMADOR DE
CORRENTE
50
51
50
51
3 TCs
REL DE SOBRECORRENTE DE FASE
INSTANTNEO E TEMPORIZADOS.
50 N REL DE SOBRECORRENTE DE TERRA
51
INSTANTNEO E TEMPORIZADOS.
DISJUNTOR
NOTA: A unidade consumidora poder ser
alimentada a partir do barramento 72,5 kV ou a
partir de uma derivao de linha de transmisso da
concessionria
TRANSFORMADOR DE
POTNCIAL
CONJUNTO TRIPOLAR DE CHAVES SECCIONADORAS C/
CHIFRES E ATERRAMENTO. C/ BLOQUEIO MECNICO
CONJUNTO TRIPOLAR DE CHAVES SECCIONADORAS DE
COMANDO SIMULTNEO
Figura 14 - Arranjos tpicos da CPFL;
106
CAPTULO 4 -
DIAGRAMAS UNIFILARES TPICOS DE ALGUMAS CONCESSIONRIAS
25
DE ENERGIA ELTRICA
MEDIO COM DUPLA
ALIMENTAO
DISJUNTOR
DISJUNTOR
ENTRADA AREA
ENTRADA AREA
C
3 TPs
2 TCs
MEDIO
67
3 TPs
2 TCs
3 TCs
50
51
67 N
MEDIO
50 N
51
50 N
51
67 N
50
51
67
3 TCs
3 TPs
TPs PARA PROTEO DIRECIONAL
PONTO DE LIGAO
67
B
PONTO DE ENTRADA
RAMAL DE LIGAO
RAMAL DE ENTRADA
RAMAL DE SERVIO
REL DE SOBRECORRENTE DE FASE
COM ELEMENTOS INSTANTNEO E
TEMPORIZADOS DIRECIONAIS.
REL DE SOBRECORRENTE DE NEUTRO
67 N COM ELEMENTOS INSTANTNEO E
TEMPORIZADOS DIRECIONAIS.
50
51
REL DE SOBRECORRENTE DE FASE
INSTANTNEO E TEMPORIZADOS.
PARA-RAIO, TIPO ESTAO 10 kA
TRANSFORMADOR DE
CORRENTE
TRANSFORMADOR DE
POTNCIAL
50 N REL DE SOBRECORRENTE DE TERRA
51
INSTANTNEO E TEMPORIZADOS.
DISJUNTOR
CONJUNTO TRIPOLAR DE CHAVES SECCIONADORAS C/
CHIFRES E ATERRAMENTO. C/ BLOQUEIO MECNICO
CONJUNTO TRIPOLAR DE CHAVES SECCIONADORAS DE
COMANDO SIMULTNEO
Figura 15 - Arranjos tpicos da CPFL;
107
CAPTULO 4 -
DIAGRAMAS UNIFILARES TPICOS DE ALGUMAS CONCESSIONRIAS
26
DE ENERGIA ELTRICA
1.5 COMPANHIA ENERGTICA DO CEAR (CELCE)
A
BARRAMENTO
BARRAMENTO
ENTRADA AREA
ENTRADA SUBTERRNEA
3 TPs
2 TCs
2 TCs
MEDIO
3 TCs
3 TPs
MEDIO
50 N
51
50 N
51
50
51
PONTO DE LIGAO
PONTO DE ENTRADA
RAMAL DE LIGAO
RAMAL DE ENTRADA
RAMAL DE SERVIO
PARA-RAIO, TIPO ESTAO 10 kA
TRANSFORMADOR DE
CORRENTE
50
51
50
51
3 TCs
REL DE SOBRECORRENTE DE FASE
INSTANTNEO E TEMPORIZADOS.
50 N REL DE SOBRECORRENTE DE TERRA
51
INSTANTNEO E TEMPORIZADOS.
DISJUNTOR
NOTA: A unidade consumidora poder ser
alimentada a partir do barramento 72,5 kV ou a
partir de uma derivao de linha de transmisso da
concessionria
TRANSFORMADOR DE
POTNCIAL
CONJUNTO TRIPOLAR DE CHAVES SECCIONADORAS C/
CHIFRES E ATERRAMENTO. C/ BLOQUEIO MECNICO
CONJUNTO TRIPOLAR DE CHAVES SECCIONADORAS DE
COMANDO SIMULTNEO
Figura 16 - Arranjos tpicos da CELCE;
108
CAPTULO 5
ANLISE DOS EFEITOS TRMICOS E DINMICOS
PROVOCADOS PELA CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO
109
CAPTULO 5 -
ANLISE DOS EFEITOS TRMICOS E DINMICOS PROVOCADOS PELA
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO
ANLISE DOS EFEITOS TRMICOS E DINMICOS
PROVOCADOS PELA CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO
1 INTRODUO
Toda a engenharia eltrica est fundamentada na cincia de controlar os efeitos
positivos e negativos da corrente eltrica. Atravs de seus efeitos trmicos e
magnticos, a corrente eltrica produz trabalho til ou destruio. Esta realidade
motiva os estudos, anlises e desenvolvimentos de equipamentos eltricos nas
mais variadas situaes normais e anormais. Dentre as quais, destacam-se neste
captulo as anlises dos efeitos provenientes das sobrecargas e dos curtoscircuitos.
2 CORRENTES ANORMAIS
Tendo sido convencionado denominar de corrente de regime permanente Ith, a
corrente mxima que um dispositivo suporta em funcionamento contnuo. Toda
corrente que excede aquele valor anormal. Esta anormalidade est vinculada
ao desenvolvimento de esforos trmicos e dinmicos acima da capacidade
limite do equipamento. Estas anormalidades so definidas como sobrecargas e
curto circuito.
A diferenciao entre sobrecarga e curto-circuito pode ser feita de forma simples
e objetiva:
110
CAPTULO 5 -
ANLISE DOS EFEITOS TRMICOS E DINMICOS PROVOCADOS PELA
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO
Sobrecarga caracteriza-se por corrente maior que a nominal, surgida em
circuito/equipamento sem defeito. quase sempre decorrente de solicitao
indevida do sistema e costuma, na maioria das vezes, no ultrapassar 50% dos
valores nominais de correntes.
O curto-circuito, ao contrrio, j um tipo de corrente anormal surgida em
funo de defeito e, por isso, muito mais violenta e perigosa. Seus valores mais
freqentes esto situados na faixa de 1.000 a 2.000% das correntes nominais,
podendo, em casos extremos, alcanar valores em torno de 10.000%. Estes casos
extremos correspondem s maiores solicitaes em termos de capacidade de
interrupo dos equipamentos de proteo oferecidos no mercado. Estes
comentrios podem ser observados na figura 1.
3 COMPORTAMENTO DOS ISOLANTES EM FACE AS
CORRENTES ANORMAIS
Existem os mais diversos tipos de materiais isolantes empregados para separar
pontos com diferena de potencial.
Os fios e cabos condutores milimtricos utilizados atualmente tm isolamento de
PVC, borracha ou polietileno, sendo as respectivas reas transversais
dimensionadas para 30C de temperatura ambiente mais um t de plena carga.
A plena carga supe uma elevao de temperatura de 40C, o que eleva a
temperatura final admissvel do condutor em PVC a 70C.
No sendo excedidos estes valores, a vida mdia do condutor de PVC pode ser
estimada em 20 anos, conforme ilustrado na figura 2.
111
CAPTULO 5 -
ANLISE DOS EFEITOS TRMICOS E DINMICOS PROVOCADOS PELA
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO
A durabilidade de um isolamento de PVC depende dos componentes qumicos
que lhe conferem elasticidade. Quando aumenta a temperatura, aqueles
elementos
tendem
desagregar-se,
diminuindo
sua
capacidade
isolante.Acontece a queda de flexibilidade e o isolamento fica quebradio,
absorvendo umidade.
Em funo disso, as normas determinam que para 145% de carga deve haver
desligamento do circuito em menos de uma hora, sendo a temperatura limite
estabelecida em 160C, de acordo com a figura 2. Esta temperatura tanto pode
ser atingida em curto tempo a partir de uma alta corrente, como em tempo mais
longo com sobrecargas mais moderadas, sendo ela, em ltima anlise, quem
determina o tempo mximo que um isolante pode ficar exposto s
sobrecorrentes.
Completando, lembramos que o aumento de temperatura tem ainda um outro
efeito das srias conseqncias sobre o isolamento de PVC. .
Com o amolecimento da capa isolante, acontece um deslocamento da mesma por
efeito dinmico, tanto do peso do condutor como das tenses de estiramento no
permetro externo das dobras mais acentuadas do condutor.
Esse deslocamento diminui a espessura do isolamento e consequentemente faz
surgir um ponto fraco sujeito ruptura, e consequentemente, pode ocorrer um
curto-circuito.
112
CAPTULO 5 -
ANLISE DOS EFEITOS TRMICOS E DINMICOS PROVOCADOS PELA
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO
IN
10.000%
Raro
5.000%
Pouco
Freqente
Muito Freqente
2.000%
1.250%
600%
150%
120%
105%
100%
8ms 80ms
200ms
3s
5s
2min
2h
tempo
Figura 1 Distribuio das correntes de sobrecarga e curto-circuito
por ocorrncia e tempos mximos admissveis;
113
CAPTULO 5 -
ANLISE DOS EFEITOS TRMICOS E DINMICOS PROVOCADOS PELA
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO
Tempo
20 anos
1 hora
200 ms
8 ms
100 %
145 %
2.000 %
10.000%
Figura 2 - Curva caracterstica de vida do isolamento PVC de condutores;
4 SOBRECARGAS
Sobrecargas de curta durao surgem durante o funcionamento de um sistema,
em decorrncia da partida de motores trifsicos de induo, da ligao de
capacitores, etc. Estas sobrecargas, durante alguns poucos segundos ou fraes,
atingem valores entre 7 e 10 vezes a corrente nominal e so consideradas
admissveis, dentro daqueles limites, pela normalizao que especifica a
construo de dispositivos de proteo. Consequentemente, aqueles
114
CAPTULO 5 -
ANLISE DOS EFEITOS TRMICOS E DINMICOS PROVOCADOS PELA
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO
dispositivos apresentam curvas de retardo para evitar o desligamento
instantneo, que seria danoso ao processo de produo.
Sobrecargas de durao mais longa acontecem quando os cabos so solicitados
por correntes surgidas da exigncia de potncia acima da nominal de um motor.
Isto comum quando, por exemplo, a mquina acoplada ao motor alimentada
com demasia de matria prima, sofre defeitos mecnicos como eixo travado ou
oferece um conjugado resistente inadequado ao conjugado motor.
Alcanando o limite de durao admissvel em cada caso de sobrecarga,
necessria a atuao de um dispositivo de proteo. Assim, evita-se a
deteriorao do material isolante das partes da instalao, que resultaria,
invariavelmente, em curto-circuito.
5 ANLISE DE SOBRECARGA EM MOTORES
Quando o motor est operando com potncia nominal, seu enrolamento
percorrido pela corrente nominal. Esta corrente nominal provoca perdas que
permanecem constantes e faz aumentar a temperatura do motor.
Aps a partida, a temperatura cresce exponencialmente, conforme destacado na
figura 3, sendo o calor gerado absorvido, em sua maior parte, pela carcaa.
Se no houvesse transmisso de calor para o ambiente, a temperatura cresceria
linearmente e aps o tempo 1 alcanaria a temperatura final Tm. Na realidade,
115
CAPTULO 5 -
ANLISE DOS EFEITOS TRMICOS E DINMICOS PROVOCADOS PELA
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO
com a elevao da temperatura do motor, uma parcela da energia calorifica
cedida ao meio ambiente.
Quanto maior a temperatura do motor, maior ser a parcela de calor transferida
para o ambiente. O crescimento da temperatura torna-se, ento, mais lento. A
sua curva de crescimento aproxima-se assintoticamente da temperatura limite
Tm. Aps um tempo 5 a temperatura j alcanou 0,9933Tm.
O intervalo de tempo representa uma grandeza fsica denominada constante de
tempo trmica. A constante de tempo definida pela capacidade de absoro
de calor (capacidade trmica) pela resistncia trmica e principalmente pelo
peso do material. Para motores mais modernos, esta constante varia entre 20 a
60 minutos, conforme o tamanho do motor. Isto significa que a temperatura final
ser atingida entre 100 e 300 minutos. A temperatura final Tm corresponde
temperatura mxima admissvel para carga nominal. O calor resultante a partir
da, transferido totalmente para o ambiente. Passa ento a existir um equilbrio
trmico.
Temperatura
Temperatura TM
final
0,95
Curva de
Aquecimento
0,865
0,632
Temperatura
do meio de
TO
refrigerao
Curva de
Resfriamento
1
tempo
Figura 3 - Aquecimento de um equipamento devido sua corrente nominal;
116
CAPTULO 5 -
ANLISE DOS EFEITOS TRMICOS E DINMICOS PROVOCADOS PELA
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO
A temperatura cresce na forma exponencial. Isto, contudo, vlido para um
corpo homogneo. Para um material heterogneo como o caso de uma
mquina eltrica, isto ocorre de forma aproximada.
O comportamento no resfriamento ocorre de forma semelhante, conforme
tambm ilustra a figura 3.
As curvas indicadas na figura 4a mostram temperaturas atingidas pelo
enrolamento de um motor, quando percorrido por correntes maiores que a
nominal.
Para funcionamento com corrente nominal (1,0 IN), durante um perodo
correspondente a cinco vezes a constante de tempo trmica, o enrolamento do
motor atinge a temperatura final, que corresponde temperatura mxima
admissvel pelo motor, em funo de sua classe de isolamento.
Se o motor funcionar com correntes maiores que a nominal, o enrolamento
atingir temperaturas finais maiores. A temperatura final atingida
aproximadamente proporcional ao quadrado da relao entre a corrente de carga
e a corrente nominal.
117
CAPTULO 5 -
ANLISE DOS EFEITOS TRMICOS E DINMICOS PROVOCADOS PELA
10
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO
Temperatura /
temperatura nominal
2IN
2,25
1,5IN
1,70
1,3IN
1,44
1,2IN
1,21
1,1IN
1,0
1,0IN
TO
1
t1,3
t1,2
tempo
t1,1
t1,5
t2
Tempo de Carga
Admissvel
t1,1
t1,2
t1,3
t1,5
t2,0
1,1 1,2 1,3
1,5
2 x In
Corrente de Carga
em Mltiplos da
Coorente Nominal
(b)
(a) aquecimento por corrente nominal (l,0.IN) e sobrecargas (1,1; 1,2; 1,3; 1,5; 2 IN)
(b) Curva de capacidade de carga correspondente.
Figura 4 - Carga mxima admissvel de um equipamento, para que sua temperatura mxima
no seja ultrapassada;
118
CAPTULO 5 -
ANLISE DOS EFEITOS TRMICOS E DINMICOS PROVOCADOS PELA
11
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO
Nas consideraes anteriores, no se levou em conta que uma mquina eltrica
tambm tem seu aquecimento dependente da velocidade e da freqncia.
Quanto maior a sobrecarga, menor o tempo que o enrolamento leva para atingir
a temperatura mxima admissvel.
Da figura 4, pode-se obter a seguinte tabela:
Tabela 1, Valores de corrente e seus respectivos tempos de funcionamento necessrios para
alcanar a temperatura nominal do motor
Corrente de Carga
Tempo p/ Alcanar Tm
1,0 IN
1,1 IN
t 1,1
1,2 IN
t 1,2
1,3 IN
t 1,3
1,5 IN
t1,5
2,0 IN
t2
A figura 4b mostra a variao de corrente de carga em funo do tempo para que
a temperatura mxima no seja atingida.
A figura 5 mostra a curva da capacidade de carga para um motor com rotor em
curto-circuito. Tal curva fornece as exigncias para o comportamento do
dispositivo de proteo do motor contra sobrecorrentes. A curva de atuao
deste dispositivo deve situar-se um pouco abaixo da curva de carga do motor,
garantindo um aproveitamento mximo do motor em termos de potncia e ao
mesmo tempo, protegendo-o contra sobreaquecimentos inadmissveis.
119
CAPTULO 5 -
ANLISE DOS EFEITOS TRMICOS E DINMICOS PROVOCADOS PELA
12
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO
Tempo de
ligao
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1.0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
Figura 5 - Curva de carga de um motor com rotor em curto-circuito;
6 CURTO-CIRCUITO
Os defeitos de isolamento permitem o contato direto entre pontos com diferena
de potencial, provocando drstica reduo na impedncia de um circuito. Em
conseqncia, a corrente sobe instantaneamente, na mesma proporo, com ao
devastadora sobre os componentes de um sistema. Geralmente a elevao da
corrente atinge valores em torno de 10 a 15 vezes a corrente nominal do circuito.
Tambm operaes erradas tm o mesmo resultado, tornando o curto-circuito,
sem dvida, o pior tipo de defeito numa instalao eltrica.
Os efeitos dos curtos-circuitos em uma instalao dependem dos nveis e da
durao das corrente de curto circuito. Quando nas instalaes encontram-se em
operao transformadores em paralelo, so necessrios preocupaes ainda
maiores em relao intensidade da corrente de curto-circuito no lado de baixa.
120
CAPTULO 5 -
ANLISE DOS EFEITOS TRMICOS E DINMICOS PROVOCADOS PELA
13
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO
Isto pode ser justificado pelo fato que o paralelismo aumenta os nveis das
correntes das faltas.
O dimensionamento adequado da proteo uma das etapas fundamentais do
projeto de qualquer sistema eltrico de potncia, quer seja a mesma uma simples
instalao residencial ou um complexo sistema industrial. O fato de dispositivos
de proteo atuarem quase instantaneamente quando ocorrem correntes de curtocircuito, no suficiente. Por isso a escolha correta dos dispositivos de proteo
deve-se levar em considerao sua capacidade de operar adequadamente e com
segurana, quando da ocorrncia de uma falta em qualquer ponto da instalao.
A conseqncia do curto-circuito sempre um corte no fornecimento de energia,
interrupo nos processos de fabricao, com prejuzos na produo, prejuzo
dos componentes, como tambm risco segurana de operadores.
Os prejuzos so minimizados se os componentes como cabos, barramentos,
elementos de fixao, transformadores de corrente e comutadores forem
especificados para suportar s solicitaes trmicas e dinmicas causadas pela
corrente de curto-circuito.
A solicitao trmica, alm de ser funo do quadrado do valor eficaz da
corrente de curto-circuito, depende do tempo de durao desta corrente. Desta
forma, necessria que a proteo contra curto-circuito atue o mais rapidamente
possvel e separe o ponto de falta da fonte de tenso.
A solicitao dinmica depende principalmente do quadrado do valor do pico da
corrente de curto-circuito. Isto tambm exige uma rpida atuao do dispositivo
121
CAPTULO 5 -
ANLISE DOS EFEITOS TRMICOS E DINMICOS PROVOCADOS PELA
14
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO
de proteo. Os componentes da instalao sero poupados de solicitaes
trmicas e dinmicas mais intensas, se a corrente de curto-circuito no atingir o
seu valor de pico.
O dispositivo de proteo contra curto-circuito deve, ento, dentro das
possibilidades, atuar como limitador da corrente de curto-circuito. Este
dispositivo deve, tambm, estar em condies de interromper com segurana o
maior valor possvel da corrente de curto-circuito, ou seja, ter uma capacidade
de interrupo dimensionada para este valor.
Para dimensionar e escolher os meios de servios eltricos que se empregam em
instalaes e de redes de abastecimento, deve-se recorrer as normas nacionais e
internacionais. Essas recomendaes indicam que alm de registrar as
solicitaes permanentes que se originam durante o servio normal, por
exemplo, pela corrente e tenso nominais, tem-se que considerar os efeitos
anormais, tais como o caso de curto-circuito. J que a intensidade das correntes
de curto-circuito alcanam, geralmente, valores equivalentes a um mltiplo da
intensidade nominal, temos que contar com altas solicitaes dinmicas e
trmicas e, em determinadas circunstncias, com tenses perigosas. Estas
constituem um perigo para as pessoas e meios de servio, o que justifica, por
motivos de segurana, uma avaliao das solicitaes em caso de curto circuito.
Para isso, preciso conhecer os valores de intensidade da corrente de curtocircuito.
Em condies normais, a corrente de um circuito determinada basicamente
pela tenso aplicada e pela impedncia da carga. Quando ocorre um curtocircuito, a tenso da fonte de alimentao passa a ser aplicada a uma carga cuja
122
CAPTULO 5 -
ANLISE DOS EFEITOS TRMICOS E DINMICOS PROVOCADOS PELA
15
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO
impedncia muito pequena, constituda pela impedncia dos condutores
situados entre a fonte e o ponto em que se deu a falta, pela impedncia do
transformador de onde parte o circuito e pelas impedncias dos equipamentos
eventualmente existentes entre o transformador e a falta. A corrente de curtocircuito praticamente independente da carga e est diretamente relacionada
com a capacidade da fonte de energia. Quanto maior a potncia do equipamento
que funciona como fonte para o sistema, maior ser a corrente de curto-circuito.
O dispositivo de proteo deve ser capaz de interromper, com segurana, a
mxima corrente de curto-circuito que possa circular por ele caso ocorra uma
falta do circuito ou equipamento, protegendo-o de forma rpida e eficiente,
proporcionado uma coordenao seletiva, isolando o setor em que ocorreu a
falta, sem que ocorra a interrupo no fornecimento de energia a qualquer outro
setor do sistema. A titulo de ilustrao, a figura 6 mostra 5 possveis pontos de
ocorrncia de um curto. Para uma falta no ponto 4, apenas o dispositivo de
proteo F4 deve atuar, isolando apenas este ramal, possibilitando que os demais
permaneam energizados. Por outro lado, se o ponto de ocorrncia da falta for o
1, o dispositivo de proteo que dever realizar a interrupo ser o F1.
123
CAPTULO 5 -
ANLISE DOS EFEITOS TRMICOS E DINMICOS PROVOCADOS PELA
16
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO
Figura 6 - Coordenao seletiva da proteo;
6.1 FONTES DAS CORRENTES DE CURTO-CIRCUITOS
Em um sistema eltrico, considera-se como "fontes da corrente de curtocircuito" a qualquer dispositivo que, a partir da ocorrncia da falta, passa a
alimentar o sistema com a corrente de curto-circuito. As duas fontes bsicas so
os geradores sncronos e os motores sncronos e os de induo, conforme ilustra
a figura. 7.
124
CAPTULO 5 -
ANLISE DOS EFEITOS TRMICOS E DINMICOS PROVOCADOS PELA
17
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO
Gerador
Concessionria de
Energia Eltrica
::::
::::
Contribuio de Corrente
de Curto-Circuito da
Concessionria
Quadro de Distribuio geral
de fora
Contribuio de Corrente
de Curto-Circuito do Gerador
Corrente Total de CurtoCircuito das Quatro
Fontes de Contribuio
Contribuio de Corrente
de Curto-Circuito do
Motor de Sncrono
Contribuio de Corrente
de Curto-Circuito do
Motor de Induo
Motor
Sncrono
Motor de
Induo
Figura 7 - Fontes que contribuem quando ocorre um curto-circuito;
Os geradores sncronos so alimentados por mquinas primria, tais como:
turbinas hidrulicas, grupos diesel ou atualmente por outras fontes alternativas.
No instante que ocorre um curto-circuito trifsico em um sistema eltrico de
potncia alimentado por um gerador, este continuar a produzir tenso, porque a
excitao de seu enrolamento de campo (corrente contnua) mantida e a fonte
mecnica continua a acion-lo com uma velocidade praticamente constante.
Nessas condies, o gerador faz circular a corrente de curto-circuito entre ele e o
ponto em que ocorreu a falta, sendo limitada apenas pelas impedncias do
125
CAPTULO 5 -
ANLISE DOS EFEITOS TRMICOS E DINMICOS PROVOCADOS PELA
18
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO
gerador e do trecho do circuito entre o gerador e a falta. Se o curto ocorrer nos
terminais do gerador, a corrente s ser limitada pela prpria impedncia do
gerador, conhecida como reatncia subtransitria da mquina sncrona.
Em seu funcionamento normal os motores eltricos realizam a converso da
energia eltrica em mecnica, mas quando acionados mecanicamente, produzem
energia eltrica. No instante do curto, o motor passa a funcionar, por um breve
perodo de tempo como gerador, contribuindo para aumentar a corrente de curto
circuito . Devese salientar que somente nos instantes iniciais, ou seja, somente
no regime subtransitrio, os motores alimentam o curto circuito. Essa
contribuio, no caso de grandes motores trifsicos, pode ser estimada
considerando que esta corrente de 3,5 vezes a corrente nominal de cada motor.
Os transformadores so freqentemente citados como fontes da corrente de
curto-circuito. Na realidade, o transformador simplesmente libera, de acordo
com a sua potncia, a corrente de curto-circuito produzido pelos geradores e
motores que o antecedem, sua ao ser simplesmente a de transformar os
valores da tenso e de corrente sem, porm, ger-las. A corrente de curtocircuito "fornecida" por um transformador determinada por sua tenso
secundria, por sua impedncia, pela impedncia dos geradores e equipamentos
at os terminais do transformador e pela impedncia do circuito entre ele e o
curto-circuito ( barras e cabos ).
126
CAPTULO 5 -
ANLISE DOS EFEITOS TRMICOS E DINMICOS PROVOCADOS PELA
19
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO
7 TIPOS DE DEFEITOS (CURTO-CIRCUITOS)
Os sistemas trifsicos distinguem-se essencialmente em 5 classes de defeitos,
que esto representados na figura 8, junto com as indicaes dos sentidos de
percurso das correntes de curto circuito. Entre todos os tipos de curto circuito, o
tripolar o mais fcil de compreender e calcular.
Do ponto de vista estatstico, a porcentagem de curto circuitos tripolares, entre
os tipos de falta que podem ser produzidos, relativamente pequeno. Entretanto,
temos que levar em conta que, tratando-se de alta tenso, geralmente o tipo de
defeito que provoca as maiores solicitaes (efeito trmico e efeito dinmico) e,
por conseguinte, estes valores so decisivos para dimensionar os meios de
servio.
127
CAPTULO 5 -
ANLISE DOS EFEITOS TRMICOS E DINMICOS PROVOCADOS PELA
20
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO
Figura 8 Tipos de faltas e sentido das correntes de curto circuito em sistemas trifsicos.a)
curto circuito tripolar; b) curto circuito bipolar sem contato terra; c) curto circuito bipolar
com contato terra; d) curto circuito unipolar terra; e) contato duplo terra;
128
CAPTULO 5 -
ANLISE DOS EFEITOS TRMICOS E DINMICOS PROVOCADOS PELA
21
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO
7.1 ANLISE DO CURTO CIRCUITO TRIFSICO (TRIPOLAR)
Sabe-se que, os sistemas eltricos industriais possuem caractersticas indutivas.
Desta forma, um curto circuito pode ser representado pelo fechamento da chave
S no circuito da figura 9.
Figura 9 Circuito equivalente de uma rede em curto circuito trifsico;
Aplicando a Lei de Kirchoff na figura 9, tem-se:
v = Ri + L
di
dt
2 *Uf * sen( wt + ) = Ri + L
di
dt
Ou:
(1)
Onde:
Uf = valor eficaz da tenso (na fase);
129
CAPTULO 5 -
ANLISE DOS EFEITOS TRMICOS E DINMICOS PROVOCADOS PELA
22
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO
R = Resistncia do circuito (instalao) da entrada at o ponto em
que ocorreu o curto circuito;
L = Indutncia do circuito (instalao) da entrada at o ponto em
que ocorreu o curto circuito.
A soluo da equao (1) :
i=
2Uf
R2 + X 2
sen( wt + )
2Uf
R2 + X 2
sen( ) * e
R
t
L
(2)
Onde:
X = wL Reatncia indutiva do circuito (instalao) da entrada at
o ponto em que ocorreu o curto circuito;
Instante em que ocorre o fechamento de S;
Defasagem entre a tenso e a corrente.
Observando a equao (2), conclui-se que a corrente de curto circuito
composta de duas parcelas, ou seja:
Uma parcela de comportamento senoidal, dada por:
i AC (t ) =
2Uf
R +X2
2
sen( wt + )
Uma parcela de comportamento exponencial, unidirecional, dada por:
130
CAPTULO 5 -
ANLISE DOS EFEITOS TRMICOS E DINMICOS PROVOCADOS PELA
23
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO
iDC (t ) =
2Uf
R2 + X 2
sen( ) * e
R
t
L
Nestas condies, a corrente de curto circuito tem a forma de onda tpica
ilustrada na figura 10.
Fig. 10 Corrente de curto circuito ( = 90);
a) Clculo do valor eficaz da corrente de curto circuito ( simtrico )
Para analisar os efeitos trmicos provocados pela corrente de curto circuito em
um equipamento, lana-se mo de um artifcio, que simplifica bastante a
seqncia de clculo.
Como a componente alternada da corrente de curto circuito tem a mesma forma
de onda da tenso, seu valor eficaz ( valor simtrico ) pode ser obtido a partir do
valor eficaz da tenso, ou seja:
I "K =
Uf
Z
(3)
131
CAPTULO 5 -
ANLISE DOS EFEITOS TRMICOS E DINMICOS PROVOCADOS PELA
24
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO
Onde:
Z Impedncia do circuito (instalao) da entrada at o ponto em
que ocorreu o curto circuito.
b) Clculo do valor de crista ( pico ) da corrente de curto circuito
(assimtrico )
O efeito dinmico provocado por uma falta trifsica o maior valor instantneo
da corrente de curto circuito . Como a partir da expresso (3), conhecido o
valor eficaz da componente alternada, o maior valor instantneo da corrente de
curto circuito pode ser determinado a partir da expresso (4).
Is = f i * 2 * I "K
(4)
Onde:
fi Fator de impulso ou fator de assimetria, que leva em conta a
influncia da componente contnua.
O fator de impulso ou de assimetria pode ser obtido a partir de dados do circuito,
com auxlio da equao (5).
f i = 1,02 + 0,98 * e
3, 03
R
X
(5)
Onde:
132
CAPTULO 5 -
ANLISE DOS EFEITOS TRMICOS E DINMICOS PROVOCADOS PELA
25
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO
R Resistncia do circuito (instalao) da entrada at o ponto em
que ocorreu o curto circuito;
X Reatncia indutiva do circuito (instalao) da entrada at o
ponto em que ocorreu o curto circuito.
O valor de fi, tambm, pode ser obtido a partir da curva da figura 11, que
representa a equao (5).
Figura 11 Fator de impulso;
Por exemplo, a circulao da corrente de curto circuito por uma chave fechada
produz solicitaes trmicas e dinmicas no equipamento que dependem da
intensidade da corrente. No caso de defeito, a chave deve suportar fechada o
valor eficaz da corrente de curto, durante um determinado intervalo de tempo,
sem que a temperatura das peas de contato ultrapasse o valor mximo
admissvel. Geralmente o intervalo de tempo considerado de 1s. A corrente de
pico ou a corrente de curto dinmica o maior valor instantneo que a chave
deve suportar fechada, sem que ocorram danos mecnicos.
133
CAPTULO 5 -
ANLISE DOS EFEITOS TRMICOS E DINMICOS PROVOCADOS PELA
26
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO
Conclui-se ento que para determinao das solicitaes trmicas e mecnicas
provocadas pela corrente de curto circuito, deve-se calcular o seu valor eficaz,
responsvel pelo efeito trmico, e o seu valor de pico, responsvel pelo efeito
dinmico.
7.2 FORMULRIO BSICO PARA O CLCULO DA IMPEDNCIA
DOS CIRCUITOS ELTRICOS
Dispositivos
Dados
Entrada
Trafo
Pcc
= MVA
Un pr
= kV
= kVA
Pt
Z%
R%
Un S
=
=
=V
Clculos
R
(m)
zero
r=0
Z=X=
Z = Z%
Un s2
Pcc *103
X (m)
= m
Un s2
= m
Pt *100
Un s2
R = R%
= m
Pt *100
X = Z 2 R 2 = m
Barras
= mm 2
=m
1
ou 0,0178
16
m
X' = 0,144
m
Cu =
Cabos
A
l
n
= mm 2
=m
=
Cu
X ' = 0,096
l * 10 3
= m
n*A
l
X = X'* = m
n
R =
m
m
l * 10 3
= m
n*A
l
X = X'* = m
n
R =
134
CAPTULO 5 -
ANLISE DOS EFEITOS TRMICOS E DINMICOS PROVOCADOS PELA
27
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO
Aps determinada as impedncias equivalentes, pode-se calcular o valor eficaz e
dinmico da corrente de curto circuito conforme as
expresses 3 e 4,
verificando-se assim o efeito trmico e dinmico provocado pela corrente de
curto circuito.
8 CLCULO DAS CORRENTES DE CURTO CIRCUITO,
UTILIZANDO-SE O MTODO SIMPLIFICADO
Para que possamos efetuar um clculo rpido do nvel de curto-circuito de uma
instalao, basta considerarmos o curto na sada do transformador. Nestas
condies, a nica impedncia envolvida no sistema ser a do transformador.
Com isso, se substituirmos a impedncia equivalente do circuito pela do
transformador, tem-se que o valor eficaz da corrente de curto circuito pode ser
calculada pela expresso 6:
Ik "=
Uns
3*Z
(6 )
Onde:
Z trafo =
Z % * Uns 2
Pt *100
(7)
Ik "=
Pt * 100
3 * Z % * Uns
(8)
Portanto:
O valor dinmico da corrente de curto-circuito ser dado pela equao 9:
Is = fi * 2 * Ik" 2 Ik"
(9)
135
CAPTULO 5 -
ANLISE DOS EFEITOS TRMICOS E DINMICOS PROVOCADOS PELA
28
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO
Dentro do exposto, pode-se para calcular com base no esquema eltrico
fornecido, as correntes de curto-circuito trifsico, levando-se em considerao
os mtodos completo e o simplificado. Deve-se ressaltar que, ambos os
exemplos de aplicao propostos sero desenvolvidos durante a realizao do
curso, com objetivo de mostrar a metodologia apresentada neste captulo.
9 EXEMPLO DE APLICAO 1
CURTO-CIRCUITO TRIFSICO
Ao se elaborar uma oferta de subestao para a definio da capacidade de
interrupo/suportabilidade, necessrio obter o nvel de curto-circuito das
instalaes mostradas na figura 12 identificadas pelas regies 1, 2 e 3.
a) Regio 1 Alta Tenso:
Compreende a entrada da concessionria at o transformador AT/MT.
Par o clculo do nvel de curto-circuito, deve-se conhecer a potncia de
curto-circuito no ponto de entrega de energia. Estes valores so fornecidos
previamente pelas concessionrias.
O Scc da concessionria funo da capacidade da linha que alimentar a SE
e esta varia com a localizao da mesma.
O nvel de curto-circuito de corrente do Scc da concessionria interfere nos
preos dos equipamentos.
Para o clculo da corrente de curto-circuito trifsica simtrica na regio 1
emprega-se a seguinte expresso:
136
CAPTULO 5 -
ANLISE DOS EFEITOS TRMICOS E DINMICOS PROVOCADOS PELA
29
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO
Icc3 =
Scc
3 Vno min al
(10)
b) Regio 2 Mdia Tenso
Compreende a sada do transformador T1 at o lado de alta do transformador
T2. O nvel de curto-circuito obtido define a capacidade de interrupo de todos
os equipamentos desta regio.
Caso os valores das correntes de curto-circuito no tenham sido definidas pelo
cliente para esta regio, pode-se obt-las, para efeito de oferta, desprezando-se a
impedncia da concessionria e a impedncia dos barramentos ou cabos de MT,
e considerando-se a maior impedncia do trecho que a impedncia do
transformador T1.
Icc3 =
Onde: Sn:
Vn:
Sn
100
3 Vno min al Z %
(11)
Potncia aparente do transformador.
Tenso nominal do lado de MT.
A expresso acima vlida para o caso de um nico transformador. Tambm
pode ser aplicada, quando existirem dois ou mais transformadores desde que os
mesmos no operem em paralelo.
Quando os dois transformadores operam em paralelo para efeito de clculo,
pode-se considerar que a corrente de curto-circuito tem seu valor dobrado, uma
vez que os dois transformadores, tendo a mesma impedncia Z% e estas estando
em paralelo, resultam em uma impedncia equivalente de Z%/2. Assim, o nvel
137
CAPTULO 5 -
ANLISE DOS EFEITOS TRMICOS E DINMICOS PROVOCADOS PELA
30
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO
de curto-circuito obtido o dobro do curto-circuito com apenas um
transformador, ou seja, 2*Icc3.
c) Regio 3 Baixa Tenso:
Para o clculo da capacidade de interrupo dos equipamentos instalados no
lado de BT (servio auxiliar, QGBT, CCM, etc), deve-se utilizar a seguinte
expresso:
Icc3 =
Onde: In:
In
100
Z%
(12)
Corrente nominal do transformador T2.
Z%: Impedncia percentual do transformador T2.
Obs: Quanto a possibilidade da operao em paralelo, o nvel de curto-circuito
deve ser calculado de maneira semelhante a regio de mdia tenso.
138
CAPTULO 5 -
ANLISE DOS EFEITOS TRMICOS E DINMICOS PROVOCADOS PELA
31
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO
Scc
1) ALTA TENSO
O nvel de curto circuito
funo do Scc da
concessionria
D1
BARRAMENTO AT
D2
D2
T1
Z%
T1
Z%
D3
2) MDIA TENSO
O nvel de curto circuito
funo principalmente da:
- Potncia Instalada (trafos)
- Da Impedncia dos Trafos T1
- Do Paralelismo entre eles
D3
BARRAMENTO MT
D4
D4
D4
CABO MT
Taux
Z%
D5
D5
T2
BT
BARRAMENTO BT
D6
D6
3) BAIXA TENSO
O nvel de curto circuito
funo principalmente da:
- Potncia do Trafo T2
- Da Impedncia do Trafo T2
- Da Existncia de Paralelismo de
Trafos
CARGAS
Figura 12 Esquema unifilar para clculo do curto-circuito exemplo 1;
139
CAPTULO 5 -
ANLISE DOS EFEITOS TRMICOS E DINMICOS PROVOCADOS PELA
32
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO
10 EXEMPLO DE APLICAO 2
Calcular as correntes de curto-circuito (simtrico) nos pontos indicados no
diagrama unifilar da figura 13.
140
CAPTULO 5 -
ANLISE DOS EFEITOS TRMICOS E DINMICOS PROVOCADOS PELA
33
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO
138kV -3
Scc=863 MVA (ano 2010)
Icc1(3 ) =
863.106
3.138.103
Icc1(3 ) = 3615
In2 =
33.106
3.13,8.103
In2 = 1380 A
1380.100
7,5
Icc2 = 18,4kV
Icc2 =
138/13,8 kV
25/33 MVA
Z=7,5%
Icc2( paralelo) = 36,8kV
In2
30.103
3.220
In2 = 78 A
78.100
Icc2 =
4
Icc2 = 2kV
In3 =
CABO MT
13,8/0,48 kV
1000 kVA
Z=5%
13,8/0,22 kV
30 kVA
Z=4%
BT
1000.103
3.480
In2 = 1203 A
1203.100
Icc2 =
5
Icc2 = 24kV
In4 =
CARGAS
Figura 13 Esquema unifilar para clculo do curto-circuito exemplo 2;
141
CAPTULO 5 -
ANLISE DOS EFEITOS TRMICOS E DINMICOS PROVOCADOS PELA
34
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO
11 EXEMPLO DE APLICAO 3
Calcular as correntes de curto-circuito (simtrico) nos pontos indicados no
diagrama unifilar da figura 14.
138kV - 3
138/13.8kV
10/12.2 MVA
Z=9%
2
13.8/0.22 kV
40 kVA Z=5%
Valores Fornecidos pela Concessionria
Ano de 1996:
Trifsico:
Fase-Terra
428-71 MVA
270-74 MVA
Z1=0.2335-71 pu
Z0=0.6642-76 pu
Ano de 2010:
Trifsico:
Fase-Terra:
1757-73 MVA
552-75 MVA
Z1=0.1159-73 pu (base de 100MVA)
Z1=0.3121-76 pu (base de 100MVA)
Figura 14 Diagrama unifilar para clculo do curto-circuito exemplo 3;
142
CAPTULO 5 -
ANLISE DOS EFEITOS TRMICOS E DINMICOS PROVOCADOS PELA
35
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO
12 SOLUO DO EXERCCIO 3 PROPOSTO
138kV - 3
1757 106
Icc1(3 ) =
3 138 103
Icc1(3 ) = 7350 A
138/13.8kV
10/12.2 MVA
Z=9%
In2
12,5 106
3 13800
In 2 = 523 A
In 2 =
13.8/0.22 kV
40 kVA
40 103
3 220
In = 105 A
105 100
Icc =
5
Icc = 2100 A
In =
523 100
9
1Trafo Icc2 = 5810
Icc 2 =
2Trafos Icc2 = 11621A
Figura 15 Diagrama unifilar do exerccio 3 resolvido;
143
CAPTULO 5 -
ANLISE DOS EFEITOS TRMICOS E DINMICOS PROVOCADOS PELA
36
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO
13 - CURTO-CIRCUITO FASE-TERRA (MONOFSICO)
A intensidade da corrente, no curto-circuito fase-terra, depende da impedncia
Zn conectada entre o ponto neutro e terra. Esta impedncia pode ser quase nula
se o neutro for solidamente aterrado ou, pelo contrrio, quase infinito se o neutro
for isolado.
O clculo desta corrente de curto-circuito desequilibrada requer o uso do mtodo
das componentes simtricas. Este mtodo substitui a rede real pela superposio
de 3 redes fictcias, as quais so denominadas por seqncia positiva, seqncia
negativa e seqncia zero. Cada componente do sistema fica caracterizado por 3
impedncias: Z1 (seqncia positiva), Z2 (seqncia negativa) e Z0 (seqncia
zero). Desta forma, o clculo da corrente I0 de falta fase-terra, expresso por:
I0 =
3U
Z1 + Z 2 + Z 0 + 3Z n
(13)
Este clculo utilizado em sistemas nos quais o neutro aterrado por uma
impedncia Zn e determina o ajuste da proteo de terra que deve intervir para
interromper a corrente de falta terra. Na prtica, por uma questo de facilidade,
costuma-se usar o valor de I 0 =
U
. Para uma melhor visualizao desta
3Z n
expresso, a figura 16 mostra o sentido da corrente Io.
144
CAPTULO 5 -
ANLISE DOS EFEITOS TRMICOS E DINMICOS PROVOCADOS PELA
37
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO
Figura 16 - Corrente de circulao Io;
13.1 CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO NOS TERMINAIS
DE UM GERADOR
O clculo da corrente de curto-circuito nos terminais de um gerador sncrono
mais complicado que nos terminais de um transformador. Isto porque a
impedncia interna da mquina no pode ser considerada constante depois do
incio da falta. Ela aumenta progressivamente, influenciando no decaimento da
corrente de curto, caracterizando trs perodos distintos, conforme pode ser
constatado na figura 17.
145
CAPTULO 5 -
ANLISE DOS EFEITOS TRMICOS E DINMICOS PROVOCADOS PELA
38
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO
Figura 17 - Corrente de curto-circuitos nos terminais de um gerador;
No perodo subtransitrio, o valor eficaz da componente CA elevado, variando
entre 5 e 10 vezes a corrente nominal de regime permanente. A durao deste
perodo de aproximadamente 0.01 a 0.1 segundos.
No perodo transitrio, a corrente de curto-circuito reduzida valores
compreendidos entre 2 e 6 vezes a corrente nominal de regime permanente. A
durao deste perodo de aproximadamente 0,1 a 1 segundo.
Para o perodo permanente, o valor eficaz da componente CA assume valores
entre 0,5 a 2 vezes a corrente nominal.
Obviamente, esses valores dependem da potncia da mquina, do seu modo de
excitao, das reatncias subtransitria, transitria e do carregamento da
mquina no instante da falta. Alm disso, a impedncia de seqncia zero dos
geradores de modo geral de 2 a 3 vezes menores que as suas impedncias
seqncia positiva. Assim sendo, a corrente de curto circuito fase-terra ser
146
CAPTULO 5 -
ANLISE DOS EFEITOS TRMICOS E DINMICOS PROVOCADOS PELA
39
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO
ento maior que a trifsica. Normalmente, a corrente de curto-circuito trifsica
permanente nos terminais de um gerador est compreendida entre 6 e 20 vezes a
corrente nominal, dependendo da potncia da mquina.
14 - COMPORTAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DURANTE
O CURTO-CIRCUITO
Os equipamentos podem ser agrupados em: passivos e ativos.
Equipamentos passivos: so os do tipo que no intervm durante a falta, esta
categoria inclui todos os equipamentos que, devido a sua funo, suportam as
solicitaes trmicas e dinmicas impostas pelas correntes de curto-circuito.
Nesta categoria enquadram-se: cabos, linhas areas, barramentos, chaves
seccionadoras,
interruptores,
transformadores,
reatncias
capacitores,
transformadores de medio, etc. A suportabilidade desses componentes esto
relacionadas com as suas capacidades de resistir aos esforos trmicos e
dinmicos decorrentes de uma falta.
Equipamentos ativos: Esta categoria inclui os componentes projetados para
eliminar a corrente de curto-circuito, ou seja: disjuntores e fusveis.
Estes dispositivos devem possuir, uma capacidade de abertura e, se necessrio,
uma capacidade de fechamento sobre a falta existente.
Capacidade de abertura: Esta caracterstica bsica de um dispositivo de
interrupo a corrente mxima (em kA eficazes) que ele capaz de abrir nas
147
CAPTULO 5 -
ANLISE DOS EFEITOS TRMICOS E DINMICOS PROVOCADOS PELA
40
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO
condies especficas definidas pelas normas, geralmente se refere ao valor
eficaz da componente CA da corrente de curto-circuito.
capacidade
de
abertura
depende
tambm
de
outras
condies
complementares:
Tenso;
Relao de R/X do circuito interrompido;
Freqncia prpria da rede;
Nmero de aberturas com corrente mxima;
Capacidade de fechamento: Geralmente esta caracterstica possui valores
idnticos ao da capacidade de abertura. No entanto, existem casos em que a
capacidade de fechamento precisa ser maior, por exemplo, para disjuntores de
geradores.
A capacidade de fechamento ento definida como sendo o maior valor da
corrente de curto circuito (valor de pico), que aparece nos primeiros instantes da
ocorrncia do curto circuito. Este valor que pode danificar os componentes sob
o ponto de vista dos esforos eletrodinmicos.
148
CAPTULO 6
TRANSFORMADORES
149
CAPTULO 6 TRANSFORMADORES
TRANSFORMADORES
1 INTRODUO
Os transformadores so mquinas eltricas estticas, de construo simples e
rendimento elevado, destinados a cumprir uma misso de relevante importncia
nos sistemas eltricos, que a transformao da tenso de valores baixos para
altos e vice-versa, de forma a permitir a gerao, o transporte e o uso da energia
eltrica na tenso mais adequada a cada situao.
Para entender o mecanismo envolvido neste processo e mesmo a sua
necessidade nos sistemas eltricos, considere um sistema eltrico constitudo por
uma usina hidrulica de gerao de energia eltrica e um centro consumidor
constitudo de uma cidade com suas variadas cargas: residncias, iluminao
pblica, comrcio, indstrias, etc..., situada a uma distncia de, por exemplo,
300 Km. A energia gerada na usina no pode ter uma tenso muito alta j que
isto obrigaria a um gasto muito grande com a isolao interna dos geradores,
alm de representar um risco muito grande de acidentes. Por estas razes, as
tenses nas usinas geradoras limitada a valores tais como, 13.200 volts, 6.600
volts ou menos.
Por outro lado, o transporte de altas potncias a tenses destes nveis em
distncias tais como as do exemplo, pode significar um gasto muito grande com
torres e perdas no sistema. Por isso necessrio que a tenso da transmisso seja
elevada para valores mais condizentes, que levem a valores de corrente eltrica
menores e, consequentemente, possibilitem o uso de condutores de menor
seco, com reduo dos custos das linhas de transmisso e dos prprios
condutores.
150
CAPTULO 6 TRANSFORMADORES
Ao se aproximar do centro consumidor, no nosso caso uma cidade, perigoso e
mesmo invivel, efetuar a distribuio da energia eltrica na tenso de
transmisso - 34.500V, 69.000V, 13.800V ou maiores ainda - deve ser
distribuda nos circuitos primrios com tenses que no so ainda as tenses de
consumo - 220V, 380V - j que a cidade pode apresentar distncias
significativas. A tenso usada ento, para a distribuio primria normalmente,
de 13.800 volt. A cada quarteiro ou menos, a tenso finalmente, transformada
para a tenso de consumo - 127V, 220V ou 380V, e nestas condies, entregue
ao consumidor final. Alguns consumidores de maior porte podero,
eventualmente, receber a energia eltrica na tenso primria.
Nesta breve descrio percebe-se o indispensvel papel do transformador, j que
ele quem faz as transformaes dos nveis de tenso citados. Na subestao
geradora dever existir um transformador que eleve a tenso do nvel de gerao
(13.800V por exemplo) para o nvel de transmisso (138.000 V por exemplo).
Como a potncia eltrica igual ao produto da tenso pela corrente, a corrente a
ser transportada, ser 10 vezes menor do que aquela que existe no gerador, e o
condutor da linha de transmisso ser, tambm 10 vezes menor do que aquele do
gerador, se usada a mesma densidade de corrente.
Na subestao da cidade um outro transformador far o trabalho inverso daquele
da geradora, isto , abaixar a tenso de 138.000 volts para os 13.800 volts dos
circuitos primrios urbanos. Em vrios pontos da cidade, transformadores de
distribuio, faro a transformao final, para a tenso de consumo.
Num sistema simples como este facilmente perceptvel o trabalho
indispensvel do transformador e a sua grande importncia nos sistemas
eltricos, mantendo as sees dos condutores dentro de limites aceitveis,
econmica e tecnicamente.
151
CAPTULO 6 TRANSFORMADORES
2 PRINCPIO DE FUNCIONAMENTO
Um transformador consiste de dois ou mais circuitos eltricos acoplados
magneticamente.
O funcionamento do transformador fundamentado no fenmeno da induo
magntica, ou seja, objetiva- transferir magneticamente potncia de um
enrolamento (primrio) a outro enrolamento (secundrio).
Ento, em princpio, no temos ligao eltrica entre os dois circuitos. Pode-se
representar esquematicamente um transformador conforme a figura 1:
Fluxo Magntico
I1
VP
N1
N2
e1
e2
VS
Figura 1- Princpio de funcionamento de um transformador;
A circulao da corrente I1, na bobina com N1 espiras resulta na fora
magnetomotriz F1 = N1I1 que d origem ao fluxo magntico que, circulando
confinado no ncleo, envolve a bobina com N2 espiras.
A variao do fluxo magntico far, pela Lei de Faraday e = d/dt, aparecer a
tenso induzida e2 no enrolamento secundrio. Nestas condies, a tenso
induzida e1 pode ser relacionada com a tenso induzida e2, pela relao entre o
nmero de espiras.
152
CAPTULO 6 TRANSFORMADORES
e1 N1 VP N1
=
=
ou
e2 N 2 V S N 2
(1)
O valor eficaz da tenso e1 dada por:
E1 = 4,44.f.N1.MX x 10-8
(2)
O valor eficaz da tenso e2 dada por:
E2 = 4,44.f.N2.MX x 10-8
(3)
A relao de transformao (kt) definida pela equao 4.
kt =
E1 N1 V1
=
=
E2 N 2 V2
(4)
Da expresso 4, observa-se que a relao entre as tenses diretamente
proporcional ao nmero de espiras.
Por outro lado as correntes do enrolamento primrio (I1 ) e do secundrio (I2 )
podem ser relacionados com base na formula 5.
I1 N 2
=
I 2 N1
(5)
Com base na frmula 5, verifica-se que a relao de correntes inversamente
proporcional a relao de nmero de espiras.
153
CAPTULO 6 TRANSFORMADORES
Comparando-se as expresses (4 e5), obtm-se:
V1 I1 = V2 I 2
(6)
Onde: V1 a tenso aplicada no enrolamento primrio;
V2 a tenso obtida no enrolamento secundrio;
Na equao 6, nota-se que o produto V1I1 (S1) a potncia aparente no
enrolamento primrio, considerando transformadores monofsicos, e igual a
V2I2 (S2) que a potncia aparente no enrolamento secundrio. Nestas
condies, a potncia aparente para um sistema trifsico definido pela seguinte
relao:
S1 = 3 V1 I1 = S 2 = 3 V2 I 2
(7)
3 PRINCPIOS CONSTRUTIVOS
TRANSFORMADORES MONOFSICOS
O funcionamento dos transformadores baseia-se nos fenmenos de mtua
induo
entre
dois
circuitos
eletricamente
isolados,
mas
ligados
magneticamente. Para que a ligao magntica seja a mais perfeita possvel,
necessrio que eles estejam enrolados sobre um ncleo magntico de pequena
relutncia magntica. Este ncleo dever ter alta permeabilidade magntica e
por isso seus entreferros devem ser reduzidos. Para a reduo de perdas no ferro
ocasionados pelo fenmeno de histerese e correntes parasitas no mesmo, o
ncleo deve ser construdo de uma liga de ao com uma pequena porcentagem
de silcio (1 a 5%). O silcio serve para aumentar a permeabilidade magntica do
ao, porm torna-o quebradio. Alm disso, o ncleo deve ser construdo por
154
CAPTULO 6 TRANSFORMADORES
lminas de espessura de 0,1 a 0,5 mm., devidamente isoladas. A laminao visa
dificultar a circulao das correntes parasitas induzidas no ncleo.
Envolvendo o ncleo so colocados os enrolamentos dos circuitos eltricos
primrio - aquele que est ligado tenso que se quer transformar (V1) - e
secundrio - aquele que fornece a tenso transformada (V2). As correntes que
circulam nos enrolamentos primrio e secundrio, I1 e I2, constituem as correntes
primria e secundria do transformador. Denomina-se relao de transformao,
relao entre as tenses primria e secundria (k=V1/V2) que
aproximadamente igual relao entre os nmeros de espiras do primrio e
secundrio (N1/N2).
Como os fenmenos de mtua induo so reversveis, nenhuma distino pode
ser feita entre os circuitos primrio e secundrio, pois os dois enrolamentos
podem funcionar independentemente, como primrio ou secundrio bastando
para isso, alimentar um ou outro. Construtivamente, os dois enrolamentos
denominam-se enrolamento de AT - alta tenso - o que tem maior nmero de
espiras e enrolamento de BT - baixa tenso - o que tem menor nmero de
espiras. O transformador ser elevador de tenso, quando se alimenta como
primrio o enrolamento de BT e ao contrrio, como abaixador de tenso quando
se alimenta o enrolamento de AT.
4 RENDIMENTO E REGULAO DE TENSO
Para a utilizao de um transformador em um sistema eltrico, uma srie de
requisitos so desejados. Entre eles, citam-se o rendimento e a regulao de
tenso. Para transformadores de potncia sempre exigida uma baixa regulao
com altssimo rendimento.
155
CAPTULO 6 TRANSFORMADORES
4.1 RENDIMENTO DE TRANSFORMADORES
Os transformadores so mquinas estticas que transferem energia eltrica de
um a outro circuito, mantendo a mesma freqncia e, normalmente, variando
valores de corrente e de tenso.
Essa transferncia de energia, com foi visto anteriormente, acompanhada de
perdas, tais como: no ncleo (Po), nos enrolamentos (Pj) e adicionais (PA). Essas
perdas dependem da construo do transformador (material e espessura das
chapas etc.) e do regime de funcionamento (tenso, corrente, etc.).
Considerando a existncia dessas perdas, tem-se para os transformadores, assim
como para qualquer conversor de energia, uma diferena entre a potncia de
entrada (P1) e de sada (P2). A relao entre P1 e P2 vem expressa pelo
denominado rendimento, cuja definio :
P2
P1
(8)
Ou em porcentagem:
% =
P2
100
P1
(9)
Na maioria das mquinas, para se determinar o rendimento, bastaria medir as
potncias na entrada e na sada e substitu-las nas expresses (8) e (9). No caso
de transformadores, necessrio o uso de um processo indireto, pois, para estes,
o rendimento pode chegar at 99% e, nessas condies, a diferena das
156
CAPTULO 6 TRANSFORMADORES
potncias de entrada e sada bem pequena, muitas vezes superando a classe de
preciso dos instrumentos de medida.
Para contornar esse problema, utiliza-se:
Pl=P2+Pj+Po+PA
(10)
Como PA 15% a 20% de Po; considerando-se a pior hiptese e substituindo na
equao anterior, vem:
P1 = P2 + Pj + 1,2 Po
(11)
P2 = V2 I2 cosc
(12)
PJ = r1I12 + r2I22 = R2I22
(13)
tem-se ainda que:
Na equao de P1, substituindo P2 e PJ pelos segundos membros das expresses
(12) e (13), tem-se:
P1 = V2I2 cosc + R2 I2 + l,2Po
(14)
De modo a generalizar a formulao, observa-se que a corrente na expresso
anterior no I2n mas, sim, um valor qualquer de I2.
Levando-se (12) e (14) em (9), tem-se:
157
CAPTULO 6 TRANSFORMADORES
% =
V2 I 2 cos C
100
V2 I 2 cos C + R2 I 22 + 1,2 PO
10
(15)
Deste modo, para a determinao do rendimento de um transformador,
suficiente a colocao de um wattmetro no secundrio (verificando o valor de
P2), um ampermetro (valor de I2), o conhecimento de R2 (ensaio em curto) e Po
(ensaio a vazio).
Nota: Segundo a ABNT, o rendimento fornecido pelo fabricante deve-se referir
s condies nominais e ao fator de potncia da carga de valor unitrio.
O ensaio para a determinao do rendimento no um ensaio de rotina, sendo
geralmente feito em prottipos quando do projeto do transformador.
Dependendo do resultado, efetuar-se- uma alterao do projeto de modo a
elevar tal valor.
Na figura 2, tem-se um baco para o clculo do rendimento de transformadores
em funo do Po e Pj, para diversas correntes de carga.
158
CAPTULO 6 TRANSFORMADORES
11
Figura 2 - baco para clculo do rendimento de transformadores;
Como exemplo, apresenta-se o clculo do rendimento para um transformador
que apresenta perdas nos enrolamentos da ordem de 1,5% da potncia nominal e
perdas no ncleo da ordem de 0,45% da mesma potncia nominal. Como
resultado, tem-se que, para a plena carga (4/4), o rendimento ser de 98,1 %.
4.2 CONDIO DE MXIMO RENDIMENTO
natural, na operao com qualquer componente de um sistema, que o mesmo
apresente o maior rendimento para o ponto de funcionamento onde a mquina
ou o equipamento permanece por mais tempo. Assim, imaginamos um
transformador de potncia que seria instalado, por exemplo, em sua subestao.
Devido a seu funcionamento quase que constantemente prximo da potncia
159
CAPTULO 6 TRANSFORMADORES
12
nominal, o que o caracteriza como transformador de fora, interessante que o
mximo rendimento ocorra para tal potncia que corresponde corrente
fornecida prxima da nominal. Um outro caso a ser considerado seria o de um
transformador de distribuio para o qual o funcionamento em grande parte do
tempo se encontra em subcarga. Uma curva tpica de operao de um
transformador de distribuio ilustrada na figura 3.
Nota-se, pela figura 3, que o transformador fica na maior parte do tempo
alimentando uma carga correspondente a, por exemplo, metade de sua carga
nominal (I2n/2). Portanto, nesse caso, mais interessante o funcionamento com o
mximo rendimento para I2 = I2n/2. Para se verificar como isso se processa,
consideremos os desenvolvimentos a seguir.
P [kW]
Pn
Pn
12
18
24
Hora do Dia
Figura 3 - Curva de carga de transformador de distribuio;
A equao do rendimento para uma corrente I2 qualquer :
% =
V2 I 2 cos C
100
V2 I 2 cos C + R2 I 22 + 1,2 PO
(16)
Para transformadores e sistemas bem projetados, embora haja variao de I2, V2
praticamente constante e a carga alimentada tem um fator de potncia com um
160
CAPTULO 6 TRANSFORMADORES
13
valor praticamente constante. Nessas condies, podem-se introduzir algumas
simplificaes na expresso do rendimento e obter algumas importantes
concluses.
Na expresso do rendimento, multiplicando-se e dividindo-se os termos
dependentes da corrente por I2n, tem-se:
% =
V2 I 2 cos C (I 2 n / I 2 n )
100
V2 I 2 cos C (I 2 n / I 2 n ) + R2 I 22 (I 2 n / I 2 n ) + 1,2 PO
(17)
% =
V2 I 2 n cos C (I 2 / I 2 n )
100
V2 I 2 n cos C (I 2 / I 2 n ) + R2 I 22n (I 2 / I 2 n ) + 1,2 PO
(18)
ou
Considerando o que j se referiu anteriormente para V2 e cosc, pode-se
escrever:
V2 I 2 n cos C = P2 n
que corresponde potncia nominal e ter um valor
praticamente constante.
R2 I 22n = Pjn
- que corresponde s perdas no cobre (nominais) e
ter um valor constante.
Chamando:
I2
= fc
I 2n
(19)
em que: fC a frao de plena carga, tem-se:
161
CAPTULO 6 TRANSFORMADORES
% =
f C P2 n
100
f C P2 n + f C2 Pjn + 1,2 P0
14
(20)
De uma forma geral, isto , para qualquer fator de potncia, tem-se:
% =
f C S n cos C
100
f C S n cos C + f C2 Pjn + 1,2 P0
(21)
sendo:
Sn a potncia aparente nominal do transformador.
De onde se encontra que, em (20), a nica varivel fC. Derivando, portanto, a
expresso (20) em relao a fC e igualando a zero, obtm-se:
f C2 Pjn = 1,2 Po
(22)
Na fase de projeto do transformador, deve-se estabelecer o valor de fC como
aproximadamente igual a 1 para os transformadores de fora e 1/2 para os de
distribuio, resultando em um rendimento mximo para o transformador.
Caso sejam levantadas as curvas % = f(fC), para transformadores tpicos de
fora e de distribuio, os resultados sero dos tipos mostrados na figura 4.
162
CAPTULO 6 TRANSFORMADORES
15
n%
n%
n %MAX
Figura 4 -
Curvas rendimento x fC para transformadores: a) transformadores de
distribuio (at 500 kVA); e b) transformadores de fora (acima de 500 kVA);
4.3 REGULAO DE TENSO PARA TRANSFORMADORES
A regulao de tenso de uma mquina mede a variao de tenso em seus
terminais devido passagem do regime a vazio para o regime em carga.
Para o caso especfico de transformadores, a regulao mede a variao de
tenso nos terminais do secundrio, quando a este se conecta uma carga.
Com o transformador a vazio, no secundrio tem-se a tenso E2, que passa para
um valor V2 ao se ligar uma carga. Se a regulao boa, esta variao ser
pequena e vice-versa.
A Variao V = E2 - V2 depende da carga que se coloca no secundrio, e pode
ser: positiva, negativa ou nula, sendo que seu valor influenciado por I2 e
cosC.
Em geral, a regulao dos transformadores definida para valor nominal da
corrente e fator de potncia da carga aproximadamente unitrio.
A regulao dada relativamente a V2, e sua expresso em porcentagem :
163
CAPTULO 6 TRANSFORMADORES
16
Re g % =
E2 V2
100
V2
(23)
Re g % =
V
100
V2
(24)
Analisando a expresso anterior, conclui-se que um grande valor da regulao
significa grande diferena entre E2 e V2, ou seja, grande variao de tenso. Se,
ao contrrio, o valor da regulao pequeno, tem-se pequena variao de
tenso.
Na prtica determina-se a regulao de transformadores, utilizando-se a
expresso 24.1.
Re g % = fc R% cos + fc X % sen
Onde: fc:
(24.1)
fator de carga;
R%: resistncia percentual do transformador;
X% reatncia percentual do transformador;
cos fator de potncia da carga;
5 PRINCPIOS CONSTRUTIVOS
TRANSFORMADORES TRIFSICOS
Para a transformao de tenso nos sistemas trifsicos podem-se empregar trs
transformadores monofsicos distintos e iguais. Os trs enrolamentos primrios
destes transformadores sero alimentados pela linha trifsica primria atravs de
agrupamento em estrela ou tringulo. Dos trs enrolamentos secundrios que so
164
CAPTULO 6 TRANSFORMADORES
17
tambm agrupados em estrela ou tringulo, sai a linha trifsica secundria. Os
agrupamentos mais comuns so:
Estrela - Estrela Y/Y
Estrela - Tringulo Y/
Tringulo - Tringulo /
Tringulo - Estrela /Y
Estrela - ZigZag Y/Zig-zag
Define-se como relao de transformao nos transformadores trifsicos
relao entre as tenses de linha de primrio e secundrio, independentemente
do esquema de ligao acima. Neste caso, esta relao j no ser a mesma entre
os nmeros de espiras como nos transformadores monofsicos, j que esta
relao a que existe entre as tenses em cada fase. Assim, na ligao Y-Y e na
ligao / elas sero iguais, mas nas ligaes Y/ e /Y a relao entre as
tenses de linha ser:
K=
V1 f
V11
N
= 3
= 3 1
V21
V2 f
N2
na ligao Y/, e;
K=
V1 f
V11
1 N1
=
=
V21
3V2 f 3 N 2
na ligao /Y.
O emprego de bancos de transformadores monofsicos em sistemas trifsicos
limitado a casos especiais, devido ao alto custo desta soluo. Normalmente,
empregam-se transformadores trifsicos, que so obtidos do agrupamento sobre
um mesmo ncleo trifsico, dos 6 enrolamentos dos 3 transformadores
monofsicos. Existem dois tipos de montagem normais dos transformadores:
Ncleo envolvido
Ncleo envolvente
165
CAPTULO 6 TRANSFORMADORES
18
O ncleo envolvido tipo mais comum para os transformadores de distribuio ou
de fora de potncia mediana, possui as formas indicadas na figura 5:
Monofsico
Trifsico
Figura 5- ncleo de transformadores;
A montagem do ncleo feita normalmente, com chapas cortadas em 1 e
colocadas superpostas, de 2 a 5 chapas, com a seguinte ilustra a figura 6:
Figura 6 Montagem de ncleos de transformadores trifsicos;
As sees das colunas so, normalmente dentadas - de 2 a 4 dentes por canto de forma a reduzir o permetro do crculo envolvendo o ncleo e
consequentemente, reduzindo tambm, o comprimento das espiras dos
enrolamentos, tornando-os mais baratos. Alm disso, as sees dentadas
proporcionam maior nmero de pontos de apoio para as bobinas, tornando-as
mais resistentes aos esforos de deformao que atuam nas mesmas em
situaes de curto-circuito e/ou de sobrecargas rpidas.
O inconveniente das sees dentadas em relao s quadradas, o aumento do
custo da mo de obra de corte das chapas do ncleo, pois passam a ter uma
166
CAPTULO 6 TRANSFORMADORES
19
maior variedade de formatos de chapas com conseqente aumento do custo da
mo de obra de montagem.
Quadrada
Dentada-2 dentes
4 pontos de apoio
8 pontos de apoio
Dentada-3 dentes
12 pontos de apoio
Figura 7 Comparao entre as sees quadradas e dentadas;
Os enrolamentos dos transformadores trifsicos so construdos de tal forma que
as bobinas de AT e BT de uma mesma fase so colocadas sobre uma mesma
coluna. Nos transformadores monofsicos, apesar de ser possvel a colocao de
cada enrolamento em uma coluna, adota-se tambm a construo com os dois
enrolamentos sobre a mesma coluna, para reduzir-se o fluxo de disperso e, em
conseqncia, melhorar o acoplamento magntico, com reduo da reatncia de
disperso e melhoria da regulao. Existem dois tipos de construo, de
enrolamentos concntricos e de bobinas alternadas. No 1 tipo, um dos
enrolamentos, geralmente o de BT, envolve o ncleo e envolvido pelo de AT.
O de BT neste caso, constitudo de uma nica bobina. J o de AT, formado
por vrias bobinas, separado do de BT por material isolante em forma cilndrica.
Coluna
AT BT
Figura 8- Disposio das bobinas da AT e BT;
167
CAPTULO 6 TRANSFORMADORES
20
O 2 tipo de bobinas concntricas, tem o enrolamento de BT tambm dividido
em vrias bobinas da mesma forma que o de AT, que so dispostas na coluna,
alternadamente, uma bobina de AT e seguida de outra de BT.
Os condutores dos enrolamentos de BT, so normalmente de seo retangular, j
que possuem seo grande (>10mm2). Os condutores do enrolamento de AT, por
serem de seo menor, so normalmente circulares.
6 PARALELISMO DE TRANSFORMADORES
Sem dvida, uma das mais importantes operaes com transformadores a
ligao de vrias unidades em paralelo, de tal modo a ser conseguida uma maior
confiabilidade e continuidade no fornecimento de energia, ou mesmo uma maior
potncia para um sistema eltrico. Para que o propsito seja atingido
corretamente, certas precaues devem ser tomadas, e sero o objetivo desta
anlise.
Entre as vantagens citadas do uso em paralelo de transformadores destaca-se,
como se disse, a obteno de uma certa potncia que, talvez, no pudesse ser
conseguida com um nico transformador de potncia normalizada. Uma outra
grande vantagem da ligao em paralelo de transformadores pode ser
evidenciada pelo diagrama unifilar de uma subestao alimentadora mostrado na
Fig. 9 .
168
CAPTULO 6 TRANSFORMADORES
21
ENTRADA
CARGA
Figura 9 - Subestao industrial tpica com transformadores em paralelo
Nota-se que, no caso de defeito do transformador 1, ou mesmo para sua
manuteno, pode-se atuar nos disjuntores 1 e 2, retirando o citado
transformador de servio, e mantendo a alimentao da carga pelo
transformador 2. Nota-se que h um aumento da confiabilidade do sistema em
termos de fornecimento de energia, o que foi conseguido pelo uso dos dois
transformadores operando em paralelo.
De modo geral, para que dois ou mais transformadores sejam colocados em
paralelo, eles devem satisfazer a uma srie de condies que sero especificadas.
Duas essenciais, indicadas por (F), e duas de otimizao, indicadas por (O). O
estudo ser realizado para o caso mais simples (dois transformadores), podendo
os resultados serem estendidos a todos os casos.
169
CAPTULO 6 TRANSFORMADORES
6.1 -
22
MESMA RELAO DE TRANSFORMAO, OU VALORES
MUITO PRXIMOS (F)
Como as tenses entre fases para a alimentao so as mesmas, quer para o
transformador 1, quer para o 2, conforme a figura10 , para que os mesmos
possam ser ligados em paralelo a primeira condio estabelece que as leituras
nos voltmetros indicados sejam as mesmas ou aproximadamente iguais.
H1
H2
H1
H2
X1
X2
X1
X2
Figura 10 - Verificao da relao de transformao;
Vejamos o caso de transformadores monofsicos que no satisfaam a tal
condio, ou seja, as relaes de transformao so diferentes ( K 1 K 2 ). A
anlise feita com base na Fig. 11.
E1
T1
T2
E1
E2
E2
Icirc
Icirc
Figura 11 - Circuito interno formado pelos enrolamentos dos transformadores;
170
CAPTULO 6 TRANSFORMADORES
23
Observa-se pela Fig.11 que, sendo as tenses do primrio as mesmas, caso haja
diferena na relao de transformao, poder-se- ter, por exemplo, E2 > E2 ,
ou seja, K 2 > K1.
Considerando o funcionamento a vazio, pode-se traar o diagrama fasorial da
Fig. 12 aplicado ao circuito interno formado pelos dois secundrios. Deve-se
atentar para o fato de que as fems esto em oposio referida malha.
E2
E2
E2
Icirc
Figura 12 - Diagrama fasorial para o circuito formado durante o funcionamento a vazio;
Na Fig. 12, tem-se:
E& 2 - fem induzida no secundrio do transformador T1 .
E2 - fem induzida no secundrio do transformador T2 .
.
E& 2 = E& 2 E& 2 - fem resultante para a malha formada.
Icirc - corrente de circulao que se estabelece na malha
formada pelos secundrios devido a E& 2 .
Deve-se considerar que, neste estudo, admitem-se os dois transformadores com
impedncia do mesmo valor, o que permite somar as impedncias na forma
algbrica. Admite-se tambm que os transformadores esto ligados de forma
correta, e, conseqentemente, o nico problema se refere relao de
transformao.
171
CAPTULO 6 TRANSFORMADORES
24
Dessa forma, prova-se que a equao 25 fornece o mdulo da corrente de
circulao:
I CIRC % =
K %.100
Z % + Z %.( S n / Sn )
(25)
Onde:
K 2 K1
.100 = K %
K
(26)
K = K 1.K 2
(27)
K % : Variao percentual das relaes de transformao;
k:
Relao de transformao mdia;
k1:
Relao de transformao do transformador 1;
k2:
Relao de transformao do transformador 2;
Z % : Impedncia percentual do transformador 1;
Z '% : Impedncia percentual do transformador 2;
S n :
Potncia aparente nominal do transformador 1;
S n :
Potncia aparente nominal do transformador 2;
Esta corrente de circulao no tem nenhuma utilidade e responsvel por um
sobreaquecimento do transformador, pois, circulando pelas resistncias R2 e
R2 , dissipam potncias pelo efeito Joule. Assim, recomenda-se uma certa
percentagem mxima da citada corrente, expressa em funo da diferena de
tenses, admitida no mximo igual a 0,5% da tenso nominal do enrolamento
correspondente.
A operao em paralelo de transformadores que possuam relaes de
transformao diferentes, funcionando a vazio, conduz a uma tenso no
172
CAPTULO 6 TRANSFORMADORES
25
barramento, possuindo um valor intermedirio entre E2 e E2 , portanto menor
que a fem de um dos transformadores e maior que a do outro.
6.2 MESMO GRUPO DE DEFASAMENTO (F)
Quando dois transformadores so colocados em paralelo, essencial que, para a
malha interna formada pelos secundrios, tenha-se a fem resultante nula. Para
tal, deve-se ter E2 = E2 e as duas tenses em oposio, conforme se ilustra na
Fig. 13.
E2
E2
Figura 13 - Composio fasorial desejada para as fems, como ela vista
pela malha interna secundria formada pelos transformadores;
O problema da igualdade dos mdulos foi devidamente analisado. Faamos
agora algumas consideraes a respeito da oposio entre os fasores
representativos das fems.
Desejando-se conectar transformadores monofsicos em paralelo, o intento ser
alcanado curto-circuitando os bornes de mesmos ndices, com o que se espera
obter uma fem resultante nula para a malha interna formada pelos secundrios.
Para a verificao desta condio, sejam os exemplos a seguir de conexo em
paralelo de dois transformadores, em que foram usadas as duas representaes
para a polaridade, como se discutiu no captulo anterior.
173
CAPTULO 6 TRANSFORMADORES
26
a) T1 e T2 subtrativos
Representando os transformadores como sendo vistos pela parte superior, tem-se
o arranjo ilustrado na Fig. 14.
T1
H1
T2
H2
H1
T1
H2
H1
O
X1
E2
X2
X1
E2
X2
X1
T2
H2
H1
X2
X1
E2
H2
OO
E2
X2
Malha Interna
Figura 14 - Paralelismo de dois transformadores monofsicos subtrativos;
Na figura acima, no houve preocupao com as ligaes da TS, visto que as
mesmas consistem simplesmente em unir tambm terminais de mesmo ndice.
Sabendo-se que os sentidos das fems obedecem ordem dos ndices, podem-se
marcar ainda na Fig. 14 os sentidos para E2 e E2 . Em conseqncia das
ligaes realizadas, tem-se formado um circuito interno pelos dois secundrios;
circuito este constitudo de uma baixa impedncia; portanto, se para esta malha
as tenses E2 e E2 se somarem, haver uma elevada corrente de circulao
correspondendo a uma corrente de curto-circuito. De modo a evitar tal
problema, conforme se pode constatar pela figura, basta que sejam conectados
os bornes de mesmo ndice; e assim, para a malha interna, ter-se- uma fem
resultante igual a zero.
174
CAPTULO 6 TRANSFORMADORES
27
b) T1 subtrativo e T2 aditivo
Neste caso, a representao seria a indicada na Fig. 15.
T1
H1
T2
H2
H1
T1
H2
H1
H2
O
X1
E2
X2
X1
a) 1a notao (comum)
E2
X2
X1
T2
H1
E2
H2
180
X2
X1
E2
X2
b) 2a notao
Figura 15 - Paralelismo de dois transformadores monofsicos: T1 subtrativo; e T2 aditivo;
No caso da 1a notao, o problema j foi devidamente analisado (ligar terminais
de mesmo ndice), entretanto, 2a notao, caberia um rpido comentrio.
Quando o terminal X1 de T1 foi conectado com X 2 de T2 , o objetivo era
procurar os terminais correspondentes dos dois transformadores, de tal modo
que a fem resultante na conhecida malha interna fosse nula. Efetuando essa
operao, X1 estar ao mesmo potencial de X 2 , portanto este fato leva a uma
mudana dos ndices do transformador aditivo. Alterando-se a marcao das
buchas de T2 , estar-se-ia transformando-o de 180 para 0 e, assim, X1 de T1
corresponderia a X1 de T2 , o mesmo ocorrendo com os X 2 . Deste modo,
constata-se que transformadores de mesmo tipo, porm de polaridades opostas,
podem operar em paralelo desde que sejam procurados os terminais
correspondentes.
175
CAPTULO 6 TRANSFORMADORES
28
Tal como foi abordado para monofsicos, ao se desejar colocar dois
transformadores trifsicos em paralelo, se o problema se resumir na ligao de
dois transformadores, sendo um 30 e outro 210, concluir-se- que desejada a
operao de dois transformadores: um subtrativo e um aditivo, pertencentes a
um mesmo grupo. Neste caso, assim como no dos monofsicos, deve-se pela
mudana dos terminais de um deles - mudanas estas que podero ser efetuadas
na TS ou na TI, ou em ambas -, transformar o angulo de 210 em 30. Isto
possvel, como se observou no captulo anterior.
Colocando em paralelo dois transformadores com um mesmo defasamento,
unindo os terminais X1 , X 2 e X3 , tm-se as tenses entre fases em oposio
correspondendo exatamente ao problema analisado. Este fato permite a ligao
em paralelo, pois, para as malhas internas formadas, as fems resultantes tero
valor nulo.
No caso de transformadores pertencentes a grupos diferentes, sem alterar as
ligaes internas do transformador (transformando, por exemplo, uma estrela
em um tringulo), eles jamais poderiam ser operados em paralelo, pois no
haveria possibilidade da transformao para um mesmo defasamento. Caso fosse
tentada a ligao, na melhor condio ter-se-ia um defasamento entre os dois
secundrios de no mnimo 30, originando uma fem resultante, conforme se
indica na Fig. 16.
176
CAPTULO 6 TRANSFORMADORES
29
/2
E2
f.e.m. resultante =
E2
=30o
E2
Figura 16 Fem resultante da tentativa de ligao em paralelo
de transformadores de grupos diferentes;
6.3 MESMA IMPEDNCIA PERCENTUAL (Z%) OU MESMA
TENSO DE CURTO-CIRCUITO OU VALORES PRXIMOS (O)
Estando os secundrios ligados em paralelo, verifica-se que a vazio, pela
primeira condio, deve-se ter E 2 = E 2 . Nesta situao, nenhuma corrente de
circulao existir e o conjunto estar operando em vazio. Colocando-se desse
modo um voltmetro entre os terminais do secundrio de cada um, tm-se as
fems E 2 e E1 , como mostra a Fig. 17.
T1
a
T2
a"
Figura 17 - Efeito das impedncias dos transformadores na distribuio da carga;
177
CAPTULO 6 TRANSFORMADORES
30
Quando uma carga for conectada e alimentada por uma corrente I 2 , esta
corrente ser distribuda entre os dois transformadores. Nota-se ento que,
circulando uma corrente por um transformador, que como elemento de circuito
nada mais que uma impedncia, haver uma queda de tenso interna, de tal
modo que as tenses terminais resultantes indicadas pelos voltmetros seriam
V2 = V2 = V2 , ou seja, como E 2 era igual a E 2 , ocorreu nos transformadores
uma mesma queda V2 = V2 . Como j se referiu, essas quedas corresponderiam
ao produto de uma impedncia pela correspondente corrente. Os mdulos dessas
quedas de tenso so expressos por:
V2 = Z2 .I 2
(28)
V2 = Z 2 .I 2
(29)
I 2 Z2
=
I 2 Z2
(30)
Como V2 = V2 , tem-se:
J que a tenso nica ( V2 ) e como S = VI , a equao anterior pode tambm ser
representada por:
S% Z%
=
S% Z%
(31)
em que: S% a potncia que o transformador T1 fornece em porcentagem de
sua potncia nominal; e S% , idem, para o transformador T2 .
178
CAPTULO 6 TRANSFORMADORES
31
Desta expresso, observa-se que as potncias entre os transformadores se
distribuem
de
maneira
inversamente
proporcional
correspondentes
impedncias percentuais.
Deve-se considerar que a condio analisada corresponde a um problema de
otimizao, no constituindo um item obrigatrio a ser obedecido. Este fato leva
concluso da possibilidade do paralelismo de transformadores mesmo com
diferentes impedncias percentuais, com a ressalva apresentada pela equao da
distribuio de potncias.
Um outro ponto a ser levantado que o estudo foi realizado tendo em vista os
mdulos das impedncias; no prximo item analisar-se- o efeito dos
correspondentes argumentos.
6.4 MESMA RELAO ENTRE REATNCIA E
RESISTNCIA EQUIVALENTE (O)
Supondo que dois transformadores obedeam a todas as condies impostas
( E 2 = E 2 e Z2 = Z2 - em mdulos), pode-se ainda analisar se os argumentos das
referidas impedncias podem ou no influenciar a operao em paralelo. Isso,
em outras palavras, vem a ser a considerao da influncia do ngulo dado pela
relao entre a reatncia e a resistncia expressas em ohms ou em valores
percentuais.
O assunto pode ser facilmente desenvolvido com base na Fig. 18, mostrando o
circuito equivalente de dois transformadores em paralelo. Observa-se que o
circuito constitudo de duas impedncias conectadas da mesma forma como os
179
CAPTULO 6 TRANSFORMADORES
32
transformadores esto ligados - ndices 2 indicam que o sistema foi referido ao
secundrio.
Z2
I2
I2
Carga
Z2
I2
Figura 18 - Circuito eltrico equivalente associao dos transformadores;
As impedncias Z2 e Z2 , embora tenham o mesmo mdulo, podem apresentar
os ngulos internos com valores diferentes, o que seria verdadeiro, caso as
relaes X 2 R 2 e X 2 R 2 no fossem iguais.
Z2
Z2
Z2=Z2 Mdulos
j j Argumentos
X2
X2
R2
j
R2
Figura 19 - Transformadores com diferentes ngulos internos;
Pode-se provar que:
&I
2
= e j .i
&I
(32)
Donde se conclui que:
180
CAPTULO 6 TRANSFORMADORES
33
Caso se tenha Z2 = Z2 (mdulos), as correntes se distribuiro com mesmos
mdulos; entretanto, se os ngulos internos forem diferentes, as mesmas no
estaro em fase.
Como as tenses nos terminais dos trafos so as mesmas ( V& 2 = V& 2 = V& 2 ), as
correspondentes potncias aparentes seriam dadas por:
& .&I *
S& = V
2 2
(33)
& .I *
S& = V
2 2
(34)
Nas quais o smbolo (*) representa o conjugado da corrente.
A potncia aparente total fornecida pelo conjunto ser:
S& = S& + S&
(35)
Se existir o defasamento i entre as duas correntes, ento esta diferena se
manifestar tambm nas potncias. Em conseqncia, a soma anterior poderia
ser representada pela Fig. 20.
Figura 20 Potncia aparente total;
181
CAPTULO 6 TRANSFORMADORES
34
Assim verifica-se que, com os mesmos dois transformadores, com i = 0 (isto
, R 2 X 2 = R 2 X 2 ), tem-se o valor mximo de potncia aparente disponvel,
pois a soma vetorial se resume soma aritmtica ( S = S + S ).
Conclui-se finalmente, que a condio de mesma relao entrem as reatncias e
resistncias um problema de otimizao do conjunto, pois, neste caso, ter-se-
a maior potncia aparente que se poder extrair do sistema.
Exerccio de Aplicao 1:
Considere T1 e T2 dados a seguir operando em paralelo e alimentando uma
carga de 720 kVA. Qual a contribuio de cada uma deles?
T1:
SN=500 [kVA]
UN=13,8[kV]/380[V]
Z% = 4,5%
T2:
SN=300 [kVA]
UN=13,8[kV]/380[V]
Z% = 4,5%
Soluo:
Sabe-se que:
S1 Z 2
S
0,045
=
1 =
S2 Z1
S2 0,045
S1 = S2
S1
S
= 2
S1N S 2 N
S
500
.S 2
S1 = 1N .S 2 S1 =
300
S2N
S1 = 1,667.S 2
(1)
Por outro lado:
182
CAPTULO 6 TRANSFORMADORES
S1 + S 2 = 720
35
(2)
Levando (1) em (2). Tem-se:
1,667.S 2 + S 2 = 720 2,667.S 2 = 720
S 2 = 270[kVA]
Logo:
S1 = 450[kVA]
O que est perfeitamente de acordo com a teoria, pois como a carga 720 kVA
solicita 90% da potncia disponvel 800 kVA -, e como as impedncias so
iguais, os transformadores esto igualmente carregados: 270 [kVA] = 90%. 300
[kVA] e 450 [kVA] = 90%. 500 [kVA].
Exemplo de Aplicao 2:
Considere T3 e T4 dados a seguir operando em paralelo e alimentando:
a) carga de 11250 kVA
b) carga de 12500 kVA
Qual a contribuio de cada um deles em cada um dos casos?
T3:
SN = 7500 [kVA]
Z% = 5,84%
T4:
SN = 5000 [kVA]
Z% = 5,62%
Soluo:
Caso a:
Sabe-se que:
183
CAPTULO 6 TRANSFORMADORES
36
S1 Z 2
S
0,0562
=
1 =
S2 Z1
S2 0,0584
S1
S
= 0,9623. 2
S1N
S2N
S
7500
.S 2
S1 = 0,9623. 1N .S 2 = 0,9623.
5000
S2N
S1 = 1,4435.S 2
(3)
Por outro lado:
S1 + S 2 = 11250
(4)
Levando (3) em (4). vem:
1,4435.S 2 + S 2 = 11250
S 2 = 4604[kVA]
S1 = 6646[kVA]
e ainda:
S1 % =
6646
.100 S1 % = 88,6%
7500
S2 % =
4604
.100 S 2 % = 92,1%
5000
Caso b
S1 + S 2 = 12500
184
CAPTULO 6 TRANSFORMADORES
37
Levando (3) em (4). vem:
1,4435.S 2 + S 2 = 12500
S 2 = 5116[kVA]
S1 = 7384[kVA]
e ainda:
S1 % =
7384
.100 S1 % = 98,45%
7500
S2 % =
5116
.100 S 2 % = 102,32%
5000
Os caso a e b mostram que devido diferena de impedncias no houve
distribuio eqanime entre as potncias (88,6%; 92,1% e 98,45%; 102,32%) e
que no caso de carga menor que a nominal caso a - pode no haver
sobrecarga, dissimulando o problema que aparecer, sem dvida, no caso de
carga nominal caso b.
7 PERDA DE VIDA TIL EM TRANSFORMADORES
As falhas nos transformadores geralmente esto associadas a problemas na
isolao do equipamento. Quanto maior a temperatura a que a isolao estiver
submetida, maior ser a sua deteriorao. Portanto, o carregamento de um
transformador est diretamente ligado sua temperatura de operao, que, por
sua vez, influi sobre a expectativa de vida til do transformador.
185
CAPTULO 6 TRANSFORMADORES
38
Assim, decises inteligentes de carregamento de transformadores podem ser
tomadas no sentido de se admitirem sobrecargas em certos perodos do ciclo de
carga, sem sacrificar a sua vida til ao longo do dia. Isto vai ao encontro da
tendncia verificada atualmente no sistema eltrico brasileiro, de racionalizao
do uso de energia.
Baseado na NBR 5416/1991 Aplicao de cargas em transformadores de
potncia, da ABNT, prope-se uma tcnica de carregamento que consiste,
basicamente, em determinar a mxima ponta de carga que pode ser suprida pelo
transformador durante um determinado tempo sem que haja um acrscimo de
perda de vida til em relao condio nominal.
Analisa-se o critrio de carregamento em condies de operao do
transformador suprindo apenas cargas lineares (sem distores de tenso ou
corrente).
a) Carregamento de transformadores suprindo cargas lineares
a1) Comportamento trmico:
As condies de sobrecarga em um transformador so governadas pela
temperatura ambiente e pela temperatura do ponto mais quente do enrolamento.
A NBR 5416, que fornece os procedimentos para carregamento de
transformadores de potncia imersos em leo isolante para potncias nominais
trifsicas at 100 MVA, aplica-se a dois tipos de transformadores, a saber:
Transformadores de 55oC transformadores com elevao mdia de
temperatura dos enrolamentos, acima da temperatura ambiente, no superior
a 55oC, e elevao de temperatura do ponto mais quente do enrolamento,
acima da temperatura ambiente, no superior a 65oC;
Transformadores de 65oC transformadores com elevao mdia de
temperatura dos enrolamentos, acima da temperatura ambiente, no superior
186
CAPTULO 6 TRANSFORMADORES
39
a 65oC, e elevao de temperatura do ponto mais quente do enrolamento,
acima da temperatura ambiente, no superior a 80oC.
A equao de Arrhenius expressa pela 36, estabelece a perda da vida til do
transformador em funo da sua temperatura de ponto mais quente.
PV = 10
6972 ,15
+A
273 + e
.100.t
(36)
onde:
PV% = perda de vida til percentual em relao expectativa normal;
e = temperatura do ponto mais quente do enrolamento, em oC;
t = tempo em horas;
A = -13,391 para transformadores de 65oC e 14,133 para transformadores de
55oC.
Da expresso (36) possvel traar curvas correlacionando a temperatura do
ponto mais quente do enrolamento com a expectativa de vida til do
transformador de acordo com a figura 21, para transformadores de 65oC e de
55oC.
187
CAPTULO 6 TRANSFORMADORES
40
Vida (horas)
6
10
65 C
10
55 C
10
10
10
300
240
110 95 80
180 160
40
o
Temperatura do ponto mais quente, em C
Figura 21- Curvas de expectativa de vida til do transformador;
Da figura 21 conclui-se que, para um transformador de 65oC operando com a
temperatura do ponto mais quente do enrolamento (e) igual a 100oC, a
expectativa de vida til ser equivalente a 110 mil horas.
A elevao de temperatura do topo do leo sobre a temperatura ambiente e a
elevao da temperatura do ponto mais quente sobre a temperatura do topo do
leo so dadas pelas equaes (37) e (38), respectivamente.
0 = (0 f 0i ). 1 e t / To + 0i
e = (ef ei ). 1 e t / Te + ei
(37)
(38)
onde:
188
CAPTULO 6 TRANSFORMADORES
41
of e ef = elevao final de temperatura do topo do leo sobre a temperatura
ambiente e elevao final de temperatura do ponto mais quente sobre a
temperatura do topo do leo, respectivamente (oC);
oi e ei = elevao inicial de temperatura do topo do leo sobre a temperatura
ambiente e elevao inicial de temperatura do ponto mais quente sobre a
temperatura do topo do leo, respectivamente (oC);
To e Te = constantes de tempo do leo e do enrolamento, respectivamente
(horas).
A figura 22 mostra, a ttulo de ilustrao, os perfis de temperaturas do
transformador submetido a um ciclo de carga retangular.
S
Sp
Si
Si
Tempo
e + o
Tempo
ei
Tempo
o i
Tempo
a) Ciclo de carga co m dois nveis de carregamento
b) Elevao de temperatura do ponto mais quente do enrolamento sobre a amb iente
c) Elevao de temperatura do ponto mais quente do enrolamento sobre a
temperatura do topo do leo
d) Elevao de temperatura do ponto mais quente do topo do leo sobre a amb iente
Figura 22 Perfis de temperaturas do transformador submetido
a um ciclo de carga retangular;
189
CAPTULO 6 TRANSFORMADORES
42
A temperatura do ponto mais quente do enrolamento :
e = o + e + a
(39)
onde a a temperatura ambiente.
Partindo-se de um ciclo de carga retangular, com dois nveis de carga, possvel
determinar o mximo pico de carga que um transformador poder suprir em
condies senoidais, sem que haja perda de vida til em excesso. Geralmente,
torna-se necessria a determinao de um ciclo de carga equivalente a partir de
um ciclo real. A figura 23 mostra um ciclo de carga real (linha contnua) e a sua
correspondente representao em termos de ciclo de carga equivalente (linha
tracejada).
Carga em porcentagem da
nominal
150
Ponta de carga
100
Carga inicial
50
1 hora
Carga real
0
24
12
18
24 horas
Figura 23 Ciclos de carga real e equivalente tpicos de um transformador;
A carga equivalente, do ponto de vista de temperatura, produzir as mesmas
perdas que as causadas pela carga real. A carga bsica equivalente corresponde
ao valor mdio quadrtico obtido para os perodos anterior e posterior ao pico de
carga e a carga de ponta equivalente o valor mdio quadrtico para o perodo
sobre o qual a maior parte da ponta parece existir.
190
CAPTULO 6 TRANSFORMADORES
43
importante que, ao dividir o ciclo de carga em perodos distintos, no se
cometa o erro de fazer o equivalente de carga correspondente a perodos que no
apresentem caractersticas de carregamentos uniformes, correndo-se o risco de
subestimar a expectativa de perda de vida til do transformador.
O mtodo para determinao da mxima ponta de carga do transformador
consiste basicamente em dividir o ciclo dirio de 24 horas em intervalos de
pequena durao e, ao fim de cada intervalo, calcular a temperatura do ponto
mais quente do enrolamento e a perda de vida til do transformador por meio
das expresses (36) a (39).
A temperatura do ponto mais quente do enrolamento suposta constante ao
longo do intervalo e igual ao valor final do mesmo, enquanto a perda de vida
total ao longo do ciclo dirio de 24 horas ser a soma das perdas de vida til
calculadas para cada intervalo de tempo.
A metodologia determina que essa perda de vida til total ao longo do dia no
pode ultrapassar a perda de vida normal do transformador. Por exemplo, para
um transformador de 65oC, a elevao de temperatura do ponto mais quente
acima da ambiente em condies nominais de operao de 80oC. Portanto,
para determinar a sua perda de vida til diria normal, considerando-se a
temperatura ambiente de 30oC, basta substituir o valor da temperatura do ponto
mais quente do enrolamento (80oC + 30oC) na equao (36), obtendo-se o
seguinte resultado:
PV % = 10
6972 ,15
13, 391
273 + 30 + 80
.100.24 = 0,03691%
A maior ponta de carga permissvel obtida atravs de um processo iterativo.
A primeira tentativa consiste em considerar a ponta de carga como sendo a carga
inicial. Usando este valor de ponta de carga, calculam-se os valores de elevao
de temperatura para cada intervalo de tempo dentro do perodo de 24 horas,
calculando-se, ao final do perodo, a perda de vida til total, que o somatrio
das perdas de vida de cada intervalo de tempo. A seguir, compara-se o valor
191
CAPTULO 6 TRANSFORMADORES
44
calculado com o valor predeterminado como sendo a perda de vida normal diria
do transformador. Caso o valor calculado de porcentagem de perda de vida
ultrapasse a tolerncia especificada (4% do valor de perda de vida normal
desejado), o valor da ponta recalculado. Se a perda de vida calculada for maior
que a desejada, a ponta de carga ser reduzida e o seu novo valor ser a mdia
entre o valor atual da ponta de carga e o valor mnimo da ponta de carga da
iterao anterior. Se a perda de vida calculada for menor que a desejada, a ponta
de carga ser aumentada, e o seu novo valor ser a mdia entre o valor atual da
ponta de carga e o valor mximo da ponta de carga da iterao anterior.
Repete-se o processo iterativo at que o valor calculado da porcentagem de
perda de vida chegue ao limite da tolerncia especificada. O fluxograma
simplificado do processo mostrado na figura 24.
Dados de entrada
Inicializao
Smx = 200%
Smin = 0
Clculo da carga mxima
de ponta
Sp = (Smx + Smin)/2
Clculo das temperaturas e
da perda de vida total
0,04
Imprimir resultados
Sp, e
(PVc-PV)/PV
Smin = Sp
No
(PVc-PV)>0
Sim
Smx = Sp
Figura 24 Fluxograma simplificado do processo de clculo;
192
CAPTULO 6 TRANSFORMADORES
45
a2) Resultados obtidos a partir de um exemplo
Admita-se que se deseja determinar a mxima ponta de carga a que um
transformador, com as caractersticas nominais mostradas na tabela I, poder
estar submetido, considerando-se a ponta de carga com durao de quatro horas
e que a carga no perodo fora da ponta seja de 70% da nominal.
Tabela I Principais caractersticas de um transformador de 65oC sob carga nominal
Elevao de temperatura do ponto mais quente acima da temperatura ambiente (em + om ) .
80oC
Elevao de temperatura do topo do leo acima da temperatura ambiente (om )
Constante de tempo do leo (To)
Constante de tempo do ponto mais quente (Te)
Relao entre perdas no cobre e as perdas no ferro (R)
55oC
3h
0,08 h
3,2
Alm dos dados da tabela I, informaes adicionais de entrada a um programa
computacional, como as mostradas na tabela II, so necessrias para o
desenvolvimento do processo de clculo.
Tabela II Dados adicionais de entrada ao programa operacional
Carga inicial do ciclo de carga (Si)
Tempo de durao da ponta de carga (tp)
Temperatura ambiente (ta)
Perda de vida til diria normal (PV)
70%
4h
30oC
0,03691%
Assim, utilizando-se os dados das tabelas I e II e com auxlio de um programa
computacional, obtm-se os valores mximos de temperatura no transformador e
a mxima ponta de carga permissvel. Os resultados obtidos esto na tabela III.
Tabela III Valores mximos de temperatura e carregamento obtidos do programa
computacional
Mxima ponta de carga permissvel
Mxima elevao de temperatura do topo do leo sobre a temperatura ambiente
Mxima elevao de temperatura do ponto mais quente sobre a do topo do leo
Temperatura do ponto mais quente do enrolamento
130%
66oC
38oC
134oC
193
CAPTULO 6 TRANSFORMADORES
46
Portanto, por essa tabela III, conclui-se que um transformador tpico de 65oC e
resfriamento ONAN, operando com uma carga de 70% da nominal fora de
ponta, poder estar submetido a um carregamento de 130% da carga nominal
durante o perodo de quatro horas de durao da ponta quando estiver suprindo
cargas lineares. A temperatura do ponto mais quente ser de 134oC,
considerando-se a temperatura ambiente de 30oC. Nessas condies, a vida til
diria do transformador no estar sendo alterada em funo do seu
carregamento. A figura 25 mostra os perfis de temperatura conforme o ciclo de
carga, obtidos pelo programa.
C 140
134oC
130%
120
100
Temperatura do ponto mais
quente do enrolamento
80
Ciclo de carga
70%
60
Elevao da temperatura do topo do leo
sobre a temperatura ambiente
40
Elevao da temperatura do ponto mais
quente sobre a do topo do leo
20
0
10
15
20
25
Tempo (horas)
Figura 25 Curvas de temperatura do transformador suprindo carga linear;
8 QUADRO COMPARATIVO
A ttulo de informao, mostra-se no quadro resumo 1, um estudo comparativo
de algumas caractersticas dos transformadores de fora exigidas pelas
principais concessionrias de energia eltrica.
194
CAPTULO 6 TRANSFORMADORES
47
Quadro Resumo 1 Estudo comparativo das exigncias das concessionrias quanto aos
transformadores.
TRANSFORMADORES DE FORA
Existe ficha
tcnica?
Enrolamento primrio: (tringulo)
Enrolamento secundrio: (Estrela ou ZIG ZAG) com neutro acessvel.
CERJ
Comutador de tenso obrigatrio com tenso (2x) +- 2,5%.
Regulao automtica a critrio do consumidor.
Enrolamento primrio: (tringulo)
Enrolamento secundrio: estrela eficazmente aterrado.
A potncia e o nmero de unidades so funo da capacidade prevista para
CPFL
subestao.
TAPs sugeridos para comutao sem carga: 144,900 141,450 138,0
134,550 131,100 127,650 124,200 kV
CELESC
No h especificao na norma.
Padro ELETROPAULO: Enrolamento primrio (tringulo) religvel, nas
seguintes faixas:
76 a 92 kV para 88 kV
ELETROPAULO
119 a 144 kV para 138 kV
Regulao de tenso a critrio do consumidor Automtica ou Manual tanto
na alta quanto na baixa tenso.
Enrolamento primrio: (tringulo)
Enrolamento secundrio: estrela com neutro aterrado via resistor de
CEMIG
aterramento.
Regulao de tenso a critrio do consumidor Automtica ou Manual tanto
na alta quanto na baixa tenso.
Enrolamento primrio: (tringulo)
Enrolamento secundrio: (Estrela ou ZIG ZAG) com neutro solidamente
aterrado.
CELPE
Aceita-se aterramento por resistor (adotado pela SCHNEIDER em LANESA)
Para regulao automtica em carga recomenda-se 66 kV +- 10%.
Para regulao em vazio, recomenda-se:
67,65 / 66 / 64,35 /62,75 / 61,05 / 59,40 kV.
Enrolamento primrio: (tringulo)
Enrolamento secundrio: Estrela com neutro acessvel.
COELCE
Sugestes de derivaes no enrolamento de tenso superior sem carga e sem
tenso 70950 / 69300 / 67650 / 66000 / 64350 volts.
Comutao automtica: 66000 +- 8 x 1,25% volts.
No
No
No
No
No
No
sim
195
CAPTULO 7
TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL
196
CAPTULO 7 TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL
TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL
1 - INTRODUO
Os dispositivos de proteo ou medio precisam receber informaes sobre as
grandezas eltricas dos equipamentos a serem protegidos. Por razes tcnicas,
econmicas e de segurana, estas variveis no podem ser obtidas diretamente
na alimentao de alta tenso, preciso utilizar dispositivos intermedirios, tais
como:
Transformadores de tenso (TP),
Transformadores de corrente (TC),
Sensores toroidais (TC janela) para medir correntes homopolares.
2 - TRANSFORMADORES DE CORRENTE (TC'S)
Os TCs destinam-se a evitar a conexo direta de instrumentos de medio e
proteo nos circuitos de corrente alternada de alta tenso. Permite, desta forma,
isolar o circuito de alta tenso dos instrumentos de medio e proteo, bem
como adaptar a grandeza a medir, no caso a corrente, em uma proporo
conhecida e de modo a assegurar uma medio mais favorvel e segura.
A figura 1 representa, esquematicamente, o TC e as grandezas associadas, as
quais sero definidas ao longo deste captulo.
197
CAPTULO 7 TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL
N1
I1
TC
N2
I2
Z
Figura 1 Esquema eltrico de um T.C;
O TC tem N1 < N2, resultando no secundrio uma corrente I2 < I1.
Os TCs tem geralmente poucas espiras no primrio, e dependendo do valor da
corrente primria, este pode ter apenas uma espira, constituda por uma barra
colocada em srie no circuito.
Uma primeira observao essencial que a corrente I1 (corrente no enrolamento
primrio) definida pelo circuito externo, pela carga Z, e portanto no depende
da carga Z do(s) instrumento(s) ligado(s) no secundrio do TC. Como so
empregados para alimentar instrumentos de baixa impedncia (ampermetros,
bobinas de corrente de wattmetro, de medidores de watt-hora e bobinas de
corrente de diversos rels), diz-se que so transformadores que funcionam com o
secundrio quase em curto circuito permitindo a circulao de uma corrente
secundria proporcional primria em mdulo e com a menor defasagem
angular possvel entre ambas.
198
CAPTULO 7 TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL
O equilbrio de funcionamento do transformador de corrente mostrado pela
equao:
N1 I 1 + N 2 I 2 = N1 I 0
(1)
Ou seja, as foras magnetomotrizes (f.m.m) produzidas nos enrolamentos
primrios (N1*I1) e secundrios (N2*I2) fornecem como resultado a fora
magnetomotriz de magnetizao (N1*I0).
A equao 1 nos mostra que, se por um motivo qualquer, o enrolamento
secundrio ficar aberto, obviamente a corrente secundria ser zero, logo, toda
f.m.m. produzida pela corrente primria I1 ir se converter em f.m.m. de
magnetizao. Isto causar a saturao do ncleo de ferro aumentando em
consequncia, as perdas a um valor elevadssimo, devido ao alto valor da
induo. Isto provoca um aquecimento excessivo. Alm do problema citado, a
elevada tenso induzida no circuito secundrio, coloca em risco os instrumentos
e principalmente vidas humanas.
Por esta razo, os transformadores de corrente devem ter sempre o seu
secundrio fechado. Os enrolamentos no utilizados, que no pertenam ao
mesmo ncleo, devem ser curto-circuitados. Quando um TC possuir dois ou
mais enrolamentos no mesmo ncleo e apenas um destes enrolamentos for
utilizado o(s) outro(s) deve(m) ficar aberto(s), pois o enrolamento fechado
equilibra o TC.
Costuma-se para efeito de clculo, desprezar a corrente de magnetizao.
A equao anterior, pode ento, ser escrita sob a forma:
199
CAPTULO 7 TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL
N1I1 = N 2 I 2
(2)
N1 I 2
=
N 2 I1
(3)
ou ainda:
Ao se fazer tal aproximao, depara-se com o transformador de corrente ideal.
Para defini-lo melhor deve-se compreender as definies das seguintes
grandezas:
2.1 RELAO NOMINAL
a relao entre a corrente nominal primria e a corrente nominal secundria.
um dado de placa.
Kc =
I1n
I2n
(4)
2.2 RELAO DE ESPIRAS
a relao entre o nmero de espiras do enrolamento secundrio e o nmero de
espiras do enrolamento primrio.
Kc =
N2
N1
(5)
200
CAPTULO 7 TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL
2.3 RELAO EFETIVA OU RELAO VERDADEIRA
aquela que o transformador efetivamente fornece, ou seja: a relao entre a
corrente primria e a corrente secundria, sendo ambas, medidas em termos de
valores eficazes.
Kr =
I1
I2
(6)
De posse do significado dessas grandezas, pode-se definir o transformador ideal:
o transformador no qual, o nmero que mede a relao nominal, a relao de
espiras e a relao efetiva, o mesmo.
Analisando as equaes 2 e 3 verifica-se que as correntes primria e secundria
so inversamente proporcionais ao respectivo nmero de espiras.
Da suposio feita acima, pode-se concluir que a relao de transformao ser
fortemente influenciada pela corrente de excitao, o que provocar um erro de
relao e, ao mesmo tempo, um erro de fase, como pode ser observado no
diagrama fasorial mostrado na figura 2.
201
CAPTULO 7 TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL
n2
.I 2
n1
I1
+
0
Ip
I0
I2
90
2
U2
r2 I2
E2
X2I2
Figura 2 Diagrama Fasorial de um TC;
Sabe-se que o TC introduz 2 (dois) erros:
a) Erro de Relao
A corrente de excitao I0, composta da corrente magnetizante Iu, responsvel
pela produo do fluxo , e da corrente associada s perdas no ncleo (histerese
e correntes de Foucault), causa um pequeno erro de relao.
Para a correo do erro de relao, deve-se definir o conceito de fator de
correo de relao, o qual dado por:
FCR c =
Kr
Kc
(7)
202
CAPTULO 7 TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL
onde:
Kr = relao efetiva ou verdadeira
Kc = relao nominal
Portanto, o fator de correo da relao o fator pelo qual deve ser multiplicada
a relao nominal Kc do TC para se obter a relao efetiva ou verdadeira Kr.
O erro de relao percentual fica sendo expresso por:
Erro rel. % = 100(FCRc 1)
(8)
b) Erro de Fase
Como pode ser observado no diagrama fasorial da figura 2, a corrente primria
I1 defasada da corrente secundria I2 por um ngulo de 180o . O ngulo de
180o compensado pela marcao correta da polaridade do TC, como mostra o
diagrama fasorial da figura 2, e o ngulo , se constitui no erro de fase do
transformador, devido a corrente de excitao I0.
O ngulo ser positivo quando a corrente secundria (-I2) for adiantada da
corrente primria I1, e ser negativo quando a corrente secundria (-I2) for
atrasada da corrente primria I1.
Os erros de fase e de relao no so valores fixos em um dado TC, dependem
da corrente primria, frequncia, forma de onda da corrente primria e da carga
secundria incluindo os cabos secundrios. Sob condies normais, onde a
frequncia e a forma de onda da corrente primria so praticamente constantes,
203
CAPTULO 7 TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL
tais erros dependem principalmente da corrente primria e da carga secundria
incluindo o efeito dos cabos secundrios.
Define-se agora o que se denomina por fator de correo de transformao de
um TC (FCTc). o fator pelo qual se deve multiplicar a leitura indicada por um
wattmetro, cuja bobina de corrente alimentada atravs do referido TC, para
corrigir o efeito combinado do fator de correo da relao FCRc e do ngulo de
fase .
Da ABNT-EB-251, item 4.3..1.2.1, transcreve-se as duas observaes:
NOTA 1:
Os limites do fator de correo da transformao (FCTc) podem ser
considerados os mesmos limites do fator de correo da relao (FCRc),
quando o fator de potncia da carga unitrio, visto que, nestas
condies, o ngulo de fase ( ) do TC, por ser pequeno, no introduz
erros significativos.
NOTA 2:
Para qualquer fator de correo da relao (FCRc) conhecido de um TC,
os valores limites positivo e negativo do ngulo de fase ( ) em minutos
so expressos por:
= 2600.(FCRc FCTc)
(9)
Uma vez observados os aspectos anteriores, pode-se agora definir o TC.
204
CAPTULO 7 TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL
10
2.4 DEFINIO DA ABNT
Transformador para instrumentos, cujo enrolamento primrio conectado em
srie em um circuito, que se destina a reproduzir em seu secundrio a corrente
do seu circuito primrio, com sua posio fasorial substancialmente mantida, em
uma proporo definida, conhecida e adequada para uso com instrumentos de
medio, controle ou proteo.
muito comum, ao se estudar um transformador de corrente, fazer analogia com
os transformadores de fora. Existem, de fato, muitas semelhanas entre ambos.
A principal reside no fato de que ambos dependem fundamentalmente do
mecanismo da induo magntica. Em termos de operao, existe diferenas
considerveis:
Num transformador de fora, a corrente que circula no primrio
funo direta da corrente que circula no secundrio.
Num transformador de corrente, a corrente que circula no enrolamento
primrio independe da corrente do enrolamento secundrio, uma vez
que o enrolamento primrio conectado em srie com o circuito.
Segundo a norma ABNT-EB-251, os valores nominais que caracterizam os
transformadores de corrente so os seguintes:
a) Corrente nominal e relao nominal;
b) Nvel de isolamento;
c) Frequncia nominal;
d) Carga nominal;
e) Classe de exatido;
f) Fator de sobrecorrente nominal (somente para TC de proteo);
g) Fator trmico nominal;
205
CAPTULO 7 TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL
11
h) Corrente trmica nominal;
i) Corrente dinmica nominal.
Far-se- em seguida, um desenvolvimento das caractersticas acima, tentando
apresentar tambm alguns aspectos que envolve outra norma (ANSI USA ).
a) Corrente nominal e relao nominal:
Segundo a ABNT as correntes primrias nominais e as relaes nominais so as
especificadas na tabela 1. As relaes nominais so baseadas na corrente
secundria nominal de 5A . No caso de TCs com vrias relaes nominais,
todas as correntes primrias nominais devem ser escolhidas dentre as
especificadas na tabela 1.
Tabela 1 Correntes primrias nominais e relaes nominais para TC.
Corrente
Nominal
Primria [A]
5
10
15
20
25
30
40
50
60
75
Relao
Nominal
1:1
2:1
3:1
4:1
5:1
6:1
8:1
10:1
12:1
15:1
Corrente
Primria
Nominal [A]
100
125
150
200
250
300
400
500
600
800
Relao
Nominal
20:1
25:1
30:1
40:1
50:1
60:1
80:1
100:1
120:1
160:1
Corrente
Primria
Nominal [A]
1000
1200
1500
2000
2500
3000
4000
5000
6000
8000
Relao
Nominal
200:1
240:1
300:1
400:1
500:1
600:1
800:1
1000:1
1200:1
1600:1
Segundo a norma ANSI as correntes primrias nominais e as relaes nominais
so especificadas nas tabelas 2 e 3.
206
CAPTULO 7 TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL
12
Tabela 2 Para TCs que no so do tipo bucha.
CORRENTES EM (A)
RELAO SIMPLES
10:5
15:5
25:4
40:5
50:5
75:5
100:5
200:5
300:5
400:5
600:5
Relao dupla com conexo srieparalelo no enrolamento primrio
25
x
50:5
50
x
100:5
100
x
200:5
200
x
400:5
400
x
800:5
600
x
1200:5
1000
x
1200:5
2000
x
2000:5
800:5
1200:5
1500:5
2000:5
3000:5
4000:5
5000:5
6000:5
8000:5
12000:5
Relao dupla com taps no
enrolamento secundrio
25/50:5
50/100:5
100/200:5
200/400:5
300/600:5
400/800:5
600/1200:5
1000/2000:5
1500/3000:5
2000/4000:5
Tabela 3 Para TCs multi-relao do tipo bucha.
RELAO DE
CORRENTES (A)
TAPS
SECUNDRIO
RELAO DE
CORRENTES (A)
600:5
50:5
100:5
150:5
200:5
250:5
300:5
400:5
450:5
500:5
600:5
2000:5
x2-x3
x1-x2
x1-x3
x4-x5
x3-x4
x2-x4
x1-x4
x3-x5
x2-x5
x1x5
1200:5
100:5
200:5
300:5
400:5
500:5
600:5
800:5
900:5
1000:5
1200:5
TAPS SECUNDRIO
x2-x3
x1-x2
x1-x3
x4-x5
x3-x4
x2-x4
x1-x4
x3-x4
x2-x5
x1-x5
300:5
400:5
500:5
800:5
1100:5
1200:5
1500:5
1600:5
2000:5
x3-x4
x1-x2
x4-x5
x2-x3
x2-x4
x1-x3
x1-x4
x2-x5
x1-x5
3000:5
1500:5
2000:5
3000:5
x2-x3
x2-x4
x1-x4
4000:5
2000:5
3000:5
4000:5
x1-x2
x1-x3
x1-x4
5000:5
3000:5
4000:5
5000:5
x1-x2
x1-x3
x1-x4
Segundo as normas da ABNT e ANSI (tabelas 1, 2 e 3), os TCs, para servios
de medio, devem ser selecionados de modo que a corrente de servio esteja
compreendida entre 10% e 100% da corrente nominal primria. Observar os
paralelogramos de limite da classe de exatido nominal, os quais esto ilustrados
nas figuras 3, 4 e 5.
207
CAPTULO 7 TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL
13
b) Nvel de Isolamento
definido com base na classe de tenso de servio no circuito no qual o TC ser
conectado. Deve-se considerar a tenso mxima de servio. Cuidados especiais
devem ser tomados quanto classe de isolamento. Sabe-se que o custo funo
direta da classe de tenso de isolamento nominal.
c) Frequncia Nominal
As frequncias nominais para os TCs so 50 e/ou 60 Hz.
d) Carga Nominal
Todas as consideraes sobre a classe de exatido dos transformadores de
corrente, esto condicionados ao conhecimento das cargas dos mesmos. As
publicaes dos fabricantes fornecem as cargas dos rels, medidores, etc., que
somadas s impedncias dos cabos secundrios, representaro a carga total do
TC.
De uma maneira geral, a carga do TC diminui medida que aumenta a corrente
secundria do TC, devido saturao dos circuitos magnticos dos rels,
medidores e outros instrumentos.
Segundo a ABNT as cargas nominais so designadas pela letra C seguida pelo
nmero de volt-amperes em 60 Hz, com corrente nominal de 5 A e fator de
potncia normalizado conforme tabela 4. Para seleo da carga nominal de um
transformador de corrente destinados medio ou proteo, somam-se s
potncias consumidas pelos instrumentos de medio ou de proteo a serem
ligados no seu secundrio. Quando necessrio, considera-se tambm as
potncias consumidas pelas conexes e cabos secundrios. Nestas condies,
adota-se a carga padronizada de valor imediatamente superior ao valor
calculado.
208
CAPTULO 7 TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL
14
Tabela 4 Cargas nominais para TC.
CARGAS NOMINAIS
POTNCIA
FATOR DE
DESIGNAO APARENTE
POTNCIA
(VA)
(1)
(2)
(3)
C 2,5
2,5
0,90
C 5,0
5,0
0,90
C 12,5
12,5
0,90
C 25
25
0,50
C 50
50
0,50
C 100
100
0,50
C 200
200
0,50
CARACTERSTICAS A 60 Hz E 5 A
RESISTNCIA INDUTNCIA IMPEDNCIA
EFETIVA
(mH)
()
()
(4)
(5)
(6)
0,09
0,116
0,1
0,18
0,232
0,2
0,45
0,580
0,5
0,50
2,3
1,0
1,0
4,6
2,0
2,0
9,2
4,0
4,0
18,4
8,0
Segundo a ANSI as cargas nominais so designadas pela letra B seguida pelo
valor da impedncia em 60 Hz, com corrente nominal 5 A e fator de potncia
normalizado conforme tabela 5.
Tabela 5 Cargas nominais para TC
DESIGNAO
B-0,1
B-0,2
B-0,5
B-1
B-2
B-4
B-8
CARACTERSTICAS
RESISTNCIA
INDUTNCIA
()
(mH)
0,09
0,116
0,18
0,232
0,45
0,580
0,5
2,3
1,0
4,6
2,0
9,2
4,0
18,4
CARACTERSTICAS PARA 60 Hz E 5 A
IMPEDNCIA
VOLTFATOR DE
()
AMPERES POTNCIA
0,1
2,5
0,9
0,2
5,0
0,9
0,5
12,5
0,9
1,0
25
0,5
2,0
50
0,5
4,0
100
0,5
8,0
200
0,5
e) Classe de Exatido Nominal
Especial ateno deve ser dada a esse item. de primordial importncia para a
correta especificao do TC.
Os TCs, so agrupados em duas classes distintas:
TCs para servio de medio;
TCs para servio de proteo.
209
CAPTULO 7 TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL
15
e1) TCs para servio de medio
importante que esses transformadores retratem fielmente a corrente a ser
medida. imprescindvel, que apresentem erros de fase e de relao mnimos
dentro de suas respectivas classes de exatido. Segundo as normas ABNT e
ANSI, os transformadores de corrente devem manter sua exatido na faixa entre
10 a 100% da corrente nominal.
Em caso de curto circuito, no h necessidade que a corrente seja transformada
com exatido. vantajoso que em condies de curto-circuito, o transformador
entre em saturao, proporcionando assim, uma auto proteo aos equipamentos
de medio conectados no secundrio.
Os transformadores de corrente so enquadrados em uma das seguintes classes
de exatido nominal: 0,3; 0,6; 1,2 %.
As figuras 3, 4 e 5, mostram os paralelogramos de exatido definidos para cada
uma das classes de exatido.
Considera-se que o TC para servio de medio, est dentro de sua classe de
exatido, quando o ponto determinado pelo erro de fase e pelo FCRc estiver
dentro do paralelogramo de exatido.
e1.1) Seleo da Classe de Exatido
Para servio de medio, indica-se a classe de exatido seguida do smbolo da
maior carga nominal com a qual se verifica essa classe de exatido. Cada
enrolamento secundrio dever ser indicado com todas as suas classes de
exatido com as cargas nominais correspondentes.
Exemplo: 0,3 - C12,5 - segundo norma ABNT
0,3B - 0,5 - segundo norma ANSI
210
CAPTULO 7 TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL
16
Pode acontecer que o TC tenha diferentes classes de exatido, para diferentes
cargas. Nestas condies, estas classes devero ser indicadas da seguinte
maneira: 0,6-C2,5:1,2-C12,5
A seleo da classe de exatido funo direta da aplicao a que se destina o
TC. importante considerar que, tanto o TC como os instrumentos de medio
devam possuir uma classe de exatido, se no igual, pelo menos compatvel.
e1.2) Aplicaes Tpicas
A ttulo de ilustrao, mostra-se na tabela 6 as classes de exatido do TC em
funo das cargas conectadas em seu secundrio.
Tabela 6- Classe de preciso em funo de sua aplicabilidade
Classe de Preciso
0,3
e
0,6
1,2
Aplicao
Medidas em laboratrio. Medidas de potncia e energia para fins de
faturamento.
Alimentao usual de:
Ampermetros;
Watmetro;
Medidas de kWh;
Fasmetros, etc.
OBSERVAES:
1 tambm normalizada a classe de exatido 3, sem limitao do
ngulo de fase. Por no ter limitao do ngulo de fase, esta classe de
exatido no deve ser usada em servio de medio de potncia ou de
energia. No caso de um TC para servio de medio com classe de
exatido 3, considera-se que ele est dentro de sua classe de exatido,
em condies especificadas, quando nestas condies, o fator de
correo de relao estiver entre os limites 1,03 e 0,97.
211
CAPTULO 7 TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL
17
2 Todo TC para servio de medio, com um nico enrolamento
secundrio e com classes de exatido 0,3 ou 0,6 ou 1,2, deve estar
dentro da sua classe de exatido para todos os valores de fator de
potncia indutivo da carga medida no primrio do TC compreendidos
entre 0,6 e 1,0. Uma vez que estes limites definem o traado dos
paralelogramos representados nas figuras 3, 4 e 5.
Figura 3 - Limite da classe de exatido nominal 0,3;
212
CAPTULO 7 TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL
18
Figura 4 - Limite da classe de exatido nominal 0,6;
213
CAPTULO 7 TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL
19
Figura 5 - Limite da classe de exatido nominal 1,2;
214
CAPTULO 7 TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL
20
e2) TCs para Servio de Proteo
Os TCs usados para alimentao de rels devem retratar fielmente as correntes
de curto-circuito. Sendo estas correntes mltiplas da corrente nominal,
importante que o TC no sofra os efeitos de saturao.
Para aplicao com rels no necessrio considerar o efeito de erro de fase. A
corrente secundria se apresenta com um baixo fator de potncia, podendo-se
afirmar, que a mesma est em completa oposio de fase com a corrente de
excitao. Portanto, o efeito da corrente de excitao no erro de fase
desprezvel.
Segundo a ABNT os TCs para servio de rels so enquadrados em uma das
seguintes classes de exatido:
2,5 (erro percentual at 2,5%)
10 (erro percentual at 10%)
Considera-se que um TC para servio de rels est dentro de sua classe de
exatido em condies especificadas, quando nestas condies, o seu erro
percentual no for superior a 2,5% no caso da classe de exatido 2,5, ou a 10%
no caso da classe de exatido 10, desde a corrente nominal at uma corrente cujo
valor dado pelo produto da corrente nominal pelo fator de sobrecorrente
nominal.
Segundo a ANSI os TCs, para servio de rels, so enquadrados em apenas
uma classe de exatido:
10 (erro percentual at 10%)
Anteriormente, a norma ANSI tambm normalizava o TC classe 2,5.
215
CAPTULO 7 TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL
21
Consideremos agora o circuito equivalente do TC, representado na figura 6,
referido ao seu secundrio.
Z1'
H1
Z2
I
I '0
I1'
X1
E2
Vf
Zc
'
m
X2
H2
Figura 6 Circuito equivalente do TC referido ao seu secundrio;
Pelo circuito equivalente da figura 6, pode-se concluir que parte da corrente
primria consumida para excitao do ncleo, e a corrente I2 uma parcela da
corrente primria realmente transferida para o secundrio.
Conclui-se ainda que, a f.e.m. secundria funo da corrente de excitao (Io),
das impedncias do secundrio e da prpria carga (Zc).
A curva que relaciona E2 e Io denominada curva de excitao secundria, a
qual est ilustrada na figura 7. Ela fornece subsdios importantes para a correta
especificao do TC.
216
CAPTULO 7 TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL
22
Figura 7 Curva de excitao secundria;
Esta curva permite determinar o ponto a partir do qual o TC ir saturar (Kneepoint ou joelho da curva).
e2.1) Seleo da Classe de Exatido
De acordo com a ABNT, os TCs para servio de rels so classificados, quanto
impedncia, nas duas classes seguintes:
Transformador classe B um TC cujo enrolamento secundrio apresenta
reatncia desprezvel. Nesta classe se enquadram os transformadores com
ncleo toroidal, com o enrolamento secundrio uniformemente distribudo
sobre o mesmo.
Transformador classe A um TC cujo enrolamento secundrio apresenta
reatncia que no pode ser desprezada. Nesta classe se enquadram todos os
TCs, exceto os que so definidos como classe B.
217
CAPTULO 7 TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL
23
O mtodo de seleo da classe de exatido considera que o TC est fornecendo
carga uma corrente igual ao produto de sua corrente nominal pelo fator de
sobrecorrente nominal ( F5; F10; F15e F20) e o TC classificado na base do
valor mximo da tenso eficaz, que o mesmo pode manter no seu secundrio
sem prejuzo da sua exatido.
Exemplos de designao:
Transformador para proteo, classe baixa impedncia, com classe de
exatido nominal 2,5, com fator de sobrecorrente nominal igual a 10 e uma
carga de 100 VA, seria designado por: B2,5F10C100
Transformador para proteo, classe alta impedncia, com classe de exatido
igual a 10, com fator de sobrecorrente nominal igual a 20 e com carga de 50
VA, seria designado por: A10F20C50
De acordo com a ANSI, na antiga denominao ANSI teramos para os dois
exemplos a seguinte descrio: 2,6 L 400 e 10 H 200. Notar que a letra L
abreviao de LOW que significa BAIXA, enquanto que H a abreviao de
HIGH que significa ALTA.
Segundo esta norma a especificao da carga indireta, pela especificao da
tenso secundria mxima admissvel para a classe de exatido. O fator de
sobrecorrente, sempre considerado igual a 20.
Na moderna denominao ANSI teramos para os dois exemplos a seguinte
descrio: 10 C 400 e
10 T 200
Observao: Atualmente a ANSI no normaliza mais a classe 2,5 e substituiu as
letras L por C e H por T.
f) Fator de sobrecorrente nominal
218
CAPTULO 7 TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL
24
o fator empregado em transformadores de corrente para servio de proteo.
expresso pela relao entre a mxima corrente com a qual o transformador
mantm sua classe de exatido e a corrente nominal.
Segundo a ABNT este fator pode ser 5, 10, 15 (somente para classe B) ou 20 e
segundo a ANSI, igual a 20.
g) Fator trmico nominal
o fator pelo qual deve ser multiplicada a corrente nominal primria de um TC,
para se obter a corrente primria mxima que o transformador deve suportar, em
regime permanente, operando em condies normais, sem exceder os limites de
temperatura especificados para sua classe de isolamento. Segundo a ABNT este
fator pode ser 1,0; 1,20; 1,30; 1,50 e 2,0.
h) Corrente trmica nominal
definido como sendo o valor eficaz da corrente primria simtrica que o
transformador pode suportar por um determinado tempo (normalmente 1,0
segundo) com o enrolamento secundrio curto-circuitado, sem exceder os
limites de temperatura especificados para sua classe de isolamento.
i) Corrente dinmica nominal
definida como sendo o maior valor de pico da corrente primria que o
transformador deve suportar durante determinado tempo (normalmente 0,1
segundos), com o enrolamento secundrio curto-circuitado, sem se danificar
mecanicamente devido s foras eletromagnticas existentes.
219
CAPTULO 7 TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL
25
2.5 QUADRO COMPARATIVO
A ttulo de informao, mostra-se no quadro resumo 1, um estudo comparativo
de algumas caractersticas dos transformadores de corrente para proteo
exigidas pelas principais concessionrias de energia eltrica.
Quadro Resumo 1 Estudo comparativo das exigncias das concessionrias quanto aos
transformadores de corrente para proteo.
TRANSFORMADORES DE CORRENTE PARA PROTEO
Equipamento
Existe ficha
padro=S=
tcnica?
atende?
Classe 10B200
Relao de transformao mltipla sujeito aprovao da
concessionria.
Podem ser do tipo bucha ou enrolado.
CPFL
Relao de transformao e classe de exatido definidos em
comum acordo com a CPFL.
CELESC
No h especificao na NORMA. Consultar concessionria.
Classe 10B200
ELETROPAULO
Sujeito aprovao.
CEMIG
No h especificao na NORMA.
Relao Mltipla
CELPE
Classe 10F20C50
No de ncleos: 01
COELCE
Classe: 10B200
CERJ
No
Sim
No
Sim
No
Sim
No
Sim
No
Sim
No
Sim
Sim
Sim
3 TRANSFORMADOR DE POTENCIAL (TP)
3.1 TRANSFORMADOR DE POTENCIAL INDUTIVO (TPI)
O TP um transformador, cujo enrolamento primrio colocado em derivao
com um circuito eltrico, que se destina a reproduzir no seu circuito secundrio
a tenso do
circuito primrio com sua posio fasorial substancialmente
mantida, em uma proporo conhecida e adequada para uso com instrumentos
de medio, controle ou proteo.
220
CAPTULO 7 TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL
26
U1
n1
TP
n2
U2
Z
Figura 8 Ligao de um TP;
A figura 8, representa esquematicamente, um TP. Este possui um nmero de
espiras no primrio e no secundrio, tal que N1 > N2, resultando no secundrio
uma tenso U2 < U1.
Os TPs devem ter seu ponto de funcionamento muito prximo condio de
funcionamento a vazio, o que, corresponde a uma alta impedncia conectada no
seu secundrio. Devido a isso, a variao da tenso muito restrita para a
variao da carga desde o regime a vazio at o regime a plena carga.
Diferentemente do TC, o TP precisa ter no s seus enrolamentos isolados entre
si e do ncleo, mas tambm as prprias bobinas, camadas e espiras de cada
enrolamento precisam ser devidamente isoladas uma das outras, devido grande
diferena de potencial existente entre os bornes do circuito primrio.
As perdas no ferro e no cobre, a impedncia e a corrente de magnetizao
adquirem uma grande importncia no TP, uma vez que se exige do mesmo uma
221
CAPTULO 7 TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL
27
transformao fiel e exata da tenso primria. Estes fatores causam pequenos
erros na relao de transformao e no ngulo de fase.
Distinguem-se as seguintes relaes nos TPs:
1 Relao nominal:
A relao nominal (dado de placa fornecido pelo fabricante) definida como
sendo a relao entre a tenso nominal primria e a tenso nominal secundria.
Kp =
U1n
U 2n
(10)
2 - Relao de espiras:
a relao entre o nmero de espiras do enrolamento primrio e o do
secundrio.
Ke =
n1
n2
(11)
3 Relao real do TP:
aquela que o transformador efetivamente fornece. a relao entre a tenso
primria e a secundria.
Kr =
U1
U2
(12)
De posse dessas trs relaes pode-se definir o transformador ideal: o
transformador no qual, o nmero que mede a relao nominal, relao de espiras
e relao efetiva, o mesmo. Como pode ser notado no diagrama fasorial,
ilustrado na figura 9, a corrente de excitao Io, necessria na alimentao do
fluxo e das perdas por histerese e correntes de Foucault no ncleo, causa uma
222
CAPTULO 7 TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL
28
pequena queda de tenso no enrolamento primrio. Tambm a corrente de carga
I2 que extrada para a alimentao da carga secundria, causa uma pequena
queda de tenso em ambos enrolamentos, primrio e secundrio. Como
resultado, a tenso secundria ligeiramente diferente daquela que a relao
nominal indica, e tambm existe um ligeiro ngulo de defasagem adicional ao de
180o normalmente existente.
A figura 9 mostra o diagrama fasorial de um TP.
X1.I1
U1
r1.I1
+
-E1
-U2
I1
Ip
n2
.I 2
n1
I0
0
I
I2
90o
U2
E2
r2I2
X2I2
E1
Figura 9 Diagrama Fasorial de um TP;
223
CAPTULO 7 TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL
29
O TP introduz dois erros, os quais esto descritos abaixo:
1 Erro de relao:
Sabe-se que, as correntes Io e I2 causam quedas de tenses
internas nos TPs. Estas quedas de tenso so responsveis
pelo erro de relao.
Para a correo do erro de relao, define-se o fator de
correo da relao, como expresso pela equao 13.
FCR p =
Kr
Kp
(13)
onde:
Kr = relao real do TP;
Kp = relao nominal do TP.
Portanto, o fator de correo de relao o fator pelo qual
deve ser multiplicada a relao nominal Kp do TP para se obter
a relao Kr.
O erro de relao percentual fica sendo calculado, tomando-se
como base a equao 14.
rel. % = 100(FCRp-1)
(14)
2 Erro de fase:
Como pode ser notado no diagrama fasorial da figura 9, a
tenso U1 defasada da tenso secundria U2 por um ngulo
de 180o . O ngulo de 180o compensado pela marcao
correta da polaridade do TP, como mostra o diagrama da
figura 9, e o ngulo se constitui no erro de fase do TP.
224
CAPTULO 7 TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL
30
O ngulo ser positivo quando a tenso secundria (-U2) for
adiantada da tenso primria U1, e ser negativo quando a
tenso secundria (-U2) for atrasada da tenso primria U1.
Os erros de relao e de fase no so valores fixos em um dado TP, pois variam
com a carga secundria, tenso primria, frequncia, forma de onda da tenso
primria.
Sob condies normalmente encontrada nos sistemas eltricos, onde a tenso
primria, frequncia e forma de onda da tenso so praticamente constantes, tais
erros dependem principalmente da carga secundria e do efeito dos cabos
secundrios.
Define-se agora o que vem a ser fator de correo de transformao de um TP
(FCTp). Este definido como sendo o fator pelo qual se deve multiplicar a
leitura indicada por um wattmetro, cuja bobina de potencial alimentada
atravs do referido TP, para corrigir o efeito combinado do fator de correo de
relao FCRp e do ngulo de fase.
Da ABNT-EB-251, item 3.2.1.1, transcreve-se as notas seguintes:
NOTA 1- Os limites de correo da transformao (FCTp) podem ser
considerados iguais aos limites do fator de correo da relao (FCRp),
quando o fator de potncia da carga unitrio visto que nestas condies,
o ngulo de fase () do TP, por ser pequeno, no introduz erros
significativos.
225
CAPTULO 7 TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL
31
NOTA 2 - Para qualquer fator de correo da relao (FCRp) conhecido
de um TP, o valor limite positivo ou negativo do ngulo de fase () em
minutos expresso pela expresso:
= 2600 x (FCTp FCRp)
(15)
Segundo a ABNT-EB-251, os valores nominais que caracterizam um TP, so:
a)
Tenso primria nominal e relao nominal;
b)
Nvel de isolamento;
c)
Frequncia nominal;
d)
Carga nominal;
e)
Classe de exatido;
f)
Potncia trmica nominal.
a) Tenso primria nominal e relao nominal:
A tenso normalizada selecionada para uma tenso igual ou imediatamente
superior tenso de servio, conforme ilustra a tabela 7.
b) Nvel de isolamento:
A seleo da classe de tenso de um TP, depende da mxima tenso de linha do
circuito.
A tabela 8, a seguir, apresenta as correspondncias entre as classes de tenso, as
tenses de linha e os espaamentos de ar recomendados pela ABNT.
226
CAPTULO 7 TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL
32
Tabela 7 -Tenses primrias nominais e relaes nominais para TP
Classe de
Grupo 1
Tenso de Para ligao de fase para fase
Isolamento
Nominal
Tenso primria Relao
(kV)
nominal
Nominal
(V)
(1)
0,6
e
1,2
(2)
115
230
402,5
460
575
(3)
1:1
2:1
3,5:1
4:1
5:1
Grupos 2 e 3
Para ligao de fase para neutro
Relaes nominais
Tenso primria
Tenso secundria
Tenso Secundria
nominal
aprox. de 115 V
(V)
De 115 / 3
(4)
230/ 3
402,5/ 3
460/ 3
(5)
2:1
3,5:1
4:1
5:1
(6)
1,2:1
2:1
2,4:1
3:1
20:1
30:1
35:1
40:1
12:1
17,5:1
20:1
24:1
60:1
70:1
35:1
40:1
100:1
120:1
60:1
70:1
200:1
200:1(*)
120:1
120:1(*)
575/ 3
2300
3450
4025
4600
20:1
30:1
35:1
40:1
2300/ 3
3450/ 3
4025/ 3
4600/ 3
8,7
6900
8050
60:1
70:1
15
15-B
11.500
13.800
100:1
120:1
25
23.000
25.000
200:1
200:1(*)
6900/ 3
8050/ 3
11.500/ 3
13.800/ 3
23.000/ 3
25.000/ 3
34,5
34.500
300:1
34.500/ 3
300:1
175:1
46
46.000
400:1
46.000/ 3
400:1
240:1
69
69.000
600:1
69.000/ 3
600:1
350:1
92
92.000
800:1
92.000/ 3
800:1
480:1
138
138-B
115.000
138.000
1000:1
1200:1
115.000/ 3
1000:1
1200:1
600:1
700:1
138.000/ 3
16
161-B
230
230-B1
230-B2
345
345-B1
345-B2
440
440-B1
440-B2
161.000
1400:1
161.000/ 3
1400:1
800:1
196.000
230.000
1700:1
2000:1
196.000/ 3
1700:1
2000:1
1000:1
1200:1
287.000
345.000
2500:1
3000:1
2500:1
3000:1
402.500
460.000
3500:1
4000:1
1400:1
1500:1(**)
1700:1
2000:1
2400:1
230.000/ 3
287.000/ 3
345.000/ 3
(*) Tenses secundrias de 125 V
402.500/ 3
3500:1
4000:1
460.000/ 3
125
V so consideradas normalizadas para sistemas existentes no Brasil; no
3
so recomendadas para futuros projetos.
227
CAPTULO 7 TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL
33
Tabela 8 -Nveis de isolamento - tenses de linha -espaamentos mnimos no ar
Classe de
Tenso de
Isolamento
nominal
(kV)
Tenso de linha
(valor eficaz em V)
(1)
0,6
1,2
5
8,7
15-B
15
25
34,5
46
69
92
138-B
138
161-B
161
230-B2
230-B1
230
345-B2
345-B1
345
440-B2
440-B1
440
(2)
at 660
at 1320
1321 a 5.500
5.501 a 9.570
9.571 a 16.500
16.501 a 26.500
26.501 a 36.225
36.226 a 48.300
48.301 a 72.450
72.451 a 96.600
96.601 a 144.900
144.901 a 169.050
169.051 a 241.500
Espaamentos mnimos no ar
de fase
para terra
(mm)
de fase
para fase
(mm)
(3)
25
65
90
130
150
200
300
380
600
750
950
1.100
1.100
1.300
1.500
1600
1950
(4)
241.501 a 362.250
Ainda no normatizados
362.251 a 462.000
Ainda no normatizados
c) Frequncia nominal:
As frequncias nominais para TP so 50 Hz e/ou 60 Hz.
d) Carga nominal:
a potncia aparente em VA, indicada na placa do transformador, com a qual o
mesmo no ultrapassa os limites de sua classe de exatido. As cargas nominais
esto apresentadas nas tabelas 9 e 10, segundo a ABNT e ANSI,
respectivamente. Para determinao da carga nominal de um TP, basta somar
todas as potncias absorvidas por cada um dos instrumentos conectados no seu
secundrio (rels, medidores, voltmetros, etc.).
228
CAPTULO 7 TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL
34
e) Classe de exatido:
Os TPs so enquadrados em uma das seguintes classes de exatido: 0,3; 0,6;
1,2%.
Tanto pela norma ABNT quanto ANSI cada classe de exatido engloba uma
faixa de erro de relao e erro de fase.
Considera-se que um TP est dentro de sua classe de exatido em condies
especficas quando, nestas condies, o ponto determinado pelo fator de
correo da relao (FCRp) e pelo ngulo de fase () estiver dentro do
paralelogramo de exatido, especificado na figura 10.
Observaes:
1- tambm normalizada a classe de exatido 3% sem limitao do
ngulo de fase. Por no ter limitao de ngulo de fase, esta classe de
exatido no deve ser usada em servio de medio de potncia ou
energia. No caso de um TP com classe de exatido 3%, considera-se
que ele est dentro de uma classe de exatido em condies
especificadas quando, nestas condies, o fator de correo da relao
estiver entre os limites 1,03 e 0,97.
2- Todo TP com um nico enrolamento secundrio deve estar dentro de
sua classe de exatido nas seguintes condies:
a) Para tenso compreendida na faixa de 90% a 100% da tenso
nominal, com frequncia nominal.
b) Para todos os valores de carga, desde em vazio at a carga
nominal especificada, mantido o fator de potncia.
c) Para todos os valores de fator de potncia indutivo da carga
medido no primrio do transformador, compreendido entre 0,6 e
1,0, uma vez que estes limites definem o traado dos
paralelogramos na figura 10.
229
CAPTULO 7 TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL
35
3 Num TP com vrios enrolamentos secundrios cada um destes
enrolamentos deve estar dentro da classe de exatido correspondente.
f) Potncia trmica nominal:
a mxima potncia que o TP pode fornecer em regime permanente sob tenso
e corrente nominal, sem exceder os limites de temperatura especificados.
Para os TPs pertencentes aos grupos de ligao 1 e 2, conforme as tabelas 7 e
11, a potncia trmica no deve ser inferior a 1,33 vezes a carga mais alta em
volt-amperes (VA), referente exatido do transformador. Para os do grupo de
ligao 3, a potncia trmica no deve ser inferior a 3,6 vezes a carga mais alta
em VA, referente exatido do transformador.
Tabela 9-Cargas nominais para TP
Caractersticas
Smbolo
(1)
P12,5
P25
P50
P100
P200
P400
Potncia Aparente (VA)
Tenso secundria nominal
115 V
Tenso secundria nominal
Resistncia
()
Indutncia
(mH)
Resistncia
()
Indutncia
(mH)
(2)
793,6
396,8
198,4
99,2
49,6
24,8
(3)
1.857,2
928,6
564,3
232,15
116,08
58,04
(4)
264,50
132,25
66,13
33,06
16,53
8,26
(5)
619,07
309,53
154,77
77,383
38,693
19,346
115/ 3 V
60 Hz
Fator de
Potncia
0,75
50 Hz
Fator de
Potncia
0,806
(6)
12,5
25
50
100
200
400
(7)
13,43
26,86
53,78
107,44
214,88
429,76
NOTA: As caractersticas a 60 Hz e 120 V so vlidas para tenses secundrias
entre 100 e 120 V, e as caractersticas a 60 Hz e 69,3 V so vlidas para tenses
secundrias entre 58 e 75 V.
Em tais condies as potncias aparentes sero diferentes das especificadas.
230
CAPTULO 7 TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL
36
Tabela 10 - Cargas nominais para TP
Smbolo da
carga
Caractersticas da carga
VA
Fator de Potncia
W
12,5
0,10
X
25
0,70
Y
75
0,85
Z
200
0,85
ZZ
400
0,85
As cargas normalizadas possuem valores de resistncia e indutncia (L) constantes.
Base 120, 60 Hz
231
CAPTULO 7 TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL
37
LIMITES DAS CLASSES DE EXATIDO NOMINAIS 0,3 0,6 1,2
EM TRANSFORMADORES DE POTENCIAL
Figura 10;
232
CAPTULO 7 TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL
38
TABELA 11 -GRUPOS PARA LIGAO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIAL
Grupo
Ligao
Designao
Tipo de Isolamento
1
Entre Fases
Total
Entre fase e neutro de
2T
Total (**)
2
Sistemas slido ou
2R
Bucha do neutro de isolamento reduzido (***)
efetivamente aterrados (*)
2P
Progressivo (***)
Entre fase e neutro de
3T
Total (**)
sistemas quaisquer (*)
3
3R
Bucha do neutro de isolamento reduzido (***)
3P
Progressivo (***)
(*) A especificao da ligao dos transformadores dos grupos 2 e 3 refere-se ligao terra do neutro dos
sistemas. O terminal do neutro dos TPs de ambos estes grupos sempre diretamente aterrado.
(**) Todos os TPs com nvel de isolamento at 15 KV inclusive, devem ter isolamento total.
(***) As extremidades com isolamento reduzido e a respectiva bucha devem satisfazer s exigncias
especificadas para o nvel de isolamento de 5 KV.
Complementando os itens anteriores, mostra-se na tabela 12 os valores da tenso
aplicada e do nvel bsico de impulso de um transformador de potencial em
funo de sua classe de isolamento. Os ensaios de tenso aplicada so feitos na
freqncia industrial e sua durao de 1 minuto. Por outro lado, os ensaios de
impulso so realizados tomando-se como base o teste com onda cortada e plena.
Tabela 12- Valores da tenso aplicada e do NBI do TP em funo de sua classe de isolamento
NVEL DE
ISOLAMENTO
ENSAIO COM FREQUNCIA
INDUSTRIAL, DURANTE
1 MINUTO (CALOR
EFICAZ EM KV)
0,6
1,2
5
8,7
15-B
15
25
34,5
46
69
92
138-B
138
161-B
161
230-B2
230-B1
230
345-B2
345-B1
345
440-B2
440-B1
440
4
10
19
26
34
34
50
70
95
140
185
230
275
275
325
360
395
460
510
570
630
630
680
740
ENSAIOS DE IMPULSO
COM ONDA CORTADA
VALOR DE
CRISTA (KV)
TEMPO MNIMO
DE CORTE (ms)
COM ONDA
PLENA
VALOR DE
CRISTA (KV)
36
59
88
110
130
175
230
290
400
520
630
750
750
865
950
1.085
1.210
1350
1500
1.640
1.640
1.785
1.925
1,0
1,5
1,6
1,8
2,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
30
60
75
95
110
150
200
350
350
450
550
650
650
750
825
900
1.050
1.175
1.300
1.425
1.425
1.550
1.675
233
CAPTULO 7 TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL
39
3.2 TRANSFORMADOR DE POTENCIAL CAPACITIVO (TPC)
Os TPC's so constitudos, basicamente, de conjuntos de elementos capacitivos
em srie os quais formam um arranjo equivalente caracterizado por duas
capacitncias representadas por C1 e C2, cujas funes so de viabilizar um
divisor de tenso e/ou de um acoplador, via carrier, entre os sistemas de
comunicao e de potncia. A informao do secundrio para os equipamentos
de controle, proteo e medio , normalmente captada de um TPI (do tipo
anteriormente considerado), cuja tenso primria est compreendida entre 5 e 15
kV. A figura 11 ilustra o esquema eltrico bsico de um TPC.
Figura 11 - Esquema eltrico bsico de um TPC;
Um reator, projetado e construdo pelo fabricante, posto em srie com o
primrio do TP intermedirio, conforme indicado na figura 11. Desta forma, o
conjunto passa a ter uma reatncia wL que satisfaa a seguinte igualdade:
Lw =
1
(C1 + C2 )w
(16)
234
CAPTULO 7 TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL
40
A partir da figura 11, pode-se estabelecer a relao entre as tenses primria e
secundria. Nestas condies, pode-se deduzir as expresses de U1 e de U:
U1 =
j(I + I1 )
jI
C1w
C2 w
(17)
U=
jI
jLwI1
C2 w
(18)
Substituindo-se em (18) o valor de Lw encontrado em (16), obtm-se:
U=
jI
jI1
C 2 w (C1 + C 2 )w
(19)
Dividindo membro a membro (17) e (19), tem-se:
U1 C1 + C 2
=
U
C1
(20)
A expresso (20) mostra que a relao entre as tenses U1 e U independe da
corrente. Isto verdade, pois em vazio, isto , quando o TP intermedirio no
estiver ligado obtm-se o mesmo valor que o obtido em (20) para a relao entre
U1 e U. Para justificar o exposto acima, obtm-se com base na figura 11 as
expresses (21) e (22) para as tenses U1 e U, respectivamente.
U1 =
U=
jI
jI
jI C + C 2
= 1
C1w C 2 w
w C1C 2
jI
C2 w
(21)
(22)
Dividindo membro a membro, obtm-se:
U1 C1 + C 2
=
U
C1
(23)
O TP intermedirio construdo de tal modo que: U=KU2, a expresso (20) ou
(23) pode ser rescrita da seguinte forma:
U1
C + C2
= K. 1
U2
C1
(24)
O TPC sendo construdo para as tenses U1 e U2 tais que representem os valores
nominais, ento a expresso (24) o valor da relao de transformao
nominal do TPC:
235
CAPTULO 7 TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL
U1n
= Kp
U2n
41
(25)
Onde Kp equivale a:
Kp = K
C1 + C 2
C1
(26)
Observaes:
1o) Os TPCs so construdos para tenses primrias de 34,5 kV a 765 kV, sendo
a tenso intermediria de 5 kV a 15 kV e a tenso secundria de 115V e
115 / 3 V.
2o) Os TPCs tm perdas bastante reduzidas e oferecem
possibilidade de
acoplamento para onda portadora de alta frequncia (telefonia). Sendo estas suas
duas grandezas vantagens.
3o) Apresentam entretanto um grande inconveniente: a influncia acentuada que
podem sofrer por motivo da variao da frequncia.
4o) aconselhvel consultar a documentao fornecida juntamente aos TPCs
pelos seus fabricantes.
236
CAPTULO 7 TRANSFORMADORES DE CORRENTE E DE POTENCIAL
42
3.3 QUADRO COMPARATIVO
A ttulo de informao, mostra-se no quadro resumo 2, um estudo comparativo
de algumas caractersticas dos transformadores de corrente e de potencial para
medio exigidas pelas principais concessionrias de energia eltrica.
Quadro Resumo 1 Estudo comparativo das exigncias das concessionrias quanto aos
transformadores de corrente e de potencial para medio.
TRANSFORMADORES DE CORRENTE E POTENCIAL PARA MEDIO DA CONCESSIONRIA
CERJ
Fornecimento da concessionria Montagem do consumidor.
CPFL
Fornecimento da concessionria (colocado nas bases) Montagem do consumidor.
CELESC
Fornecimento da concessionria Montagem do consumidor.
ELETROPAULO
Fornecimento da concessionria Montagem do consumidor.
CEMIG
Fornecimento da concessionria Montagem do consumidor.
CELPE
Fornecimento da concessionria Montagem do consumidor.
COELCE
Fornecimento da concessionria Montagem do consumidor.
237
CAPTULO 8
EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
238
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
1 - INTRODUO
Apesar das preocupaes e cuidados tomados durante a elaborao do projeto
e a execuo das instalaes, o sistema eltrico est sujeito a um defeito
transitrio ou permanente. Esses defeitos podero ter conseqncias
irrelevantes ou desastrosas, dependendo do sistema de proteo empregado.
Sabe-se que na elaborao dos projetos eltricos, os elementos de proteo so
identificados nos diagramas unifilares ou trifilares atravs de um nmero e/ou
letra. A titulo de ilustrao, mostra-se na tabela 1 a relao entre os
dispositivos de proteo e as suas correspondentes nomenclaturas. Deve-se
salientar que esta funo, aceita internacionalmente, normalizada pela
American Standart Association ASA.
239
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
Tabela 1 Nomenclatura de aparelhos - ASA
No
Funo
No
Funo
Rel de partida temporizado
52
Disjuntor de corrente alternada
Rel de verificao
53
Rel de excitatriz ou gerador de corrente contnua
Aparelho de desconexo de controle de potncia
54
Disjuntor de corrente contnua de alta velocidade
Aparelho de reverso
55
Rel de fator de potncia
10
Chave de seqncia de unidade
56
Rel de aplicao de campo
12
Aparelho de sobrevelocidade
57
Aparelho de curto-circuito ou aterramento
13
Aparelho de velocidade sncrona
59
Rel de sobretenso
14
Aparelho de subvelocidade
61
Rel de balano de corrente
15
Aparelho de ajuste de freqncia e de velocidade
62
Rel temporizado de interrupo ou abertura
17
Classe de derivao
63
Rel de presso de lquido ou de gs
18
Aparelho de acelerao ou desacelerao
64
Rel de proteo de terra
19
Contatos de transio de partida-marcha
65
Regulador
20
Vlvula operada eletricamente
67
Rel direcional de sobrecorrente
21
Rel de distncia
68
Rel de bloqueio
22
Disjuntor equalizador
70
Reostato operado eletricamente
23
Aparelho de controle de temperatura
71
Reservado para futura aplicao
25
Aparelho de sincronizao ou de sua verificao
72
Disjuntor de corrente contnua
26
Aparelho trmico (detector de temperatura do leo)
73
Contator de resistor de carga
27
Rel de subtenso
74
Rel de alarme
28
Funo a ser definida
75
Mecanismo de mudana de posio
29
Contator de isolamento
76
Rel de sobrecorrente em corrente contnua
30
Rel anunciador
77
Transmissor de pulso
31
Aparelho de excitao em separado
78
Rel de medio de ngulo de fase
32
Rel direcional de potncia
79
Rel de religamento
33
Chave de posio
80
Funo a ser definida
34
Chave de seqncia operada a motor
81
Rel de freqncia
35
Aparelho para operao de escovas
82
Rel de religamento
36
Aparelho de polaridade
83
Rel de transferncia automtica
37
Rel de subcorrente ou subpotncia
84
Mecanismo de operao
38
Aparelho de proteo de mancal
85
Rel receptor de onda carrier ou de fio piloto
43
Aparelho ou seletor de transferncia manual
86
Rel de bloqueio
44
Rel de seqncia de partida de unidades
87
Rel diferencial
45
Funo a ser definida
88
Motor auxiliar ou moto-gerador
46
Rel de reverso de fase ou balanceamento de fase
89
Chave de linha
47
Rel de seqncia de fase para tenso
90
Aparelho de religao
48
Rel de seqncia incompleta
91
Rel direcional de tenso
49
Rel de replica trmica para mquinas (temp. de enrol.)
92
Rel direcional de tenso e potncia
50
Rel de sobrecorrente instantneo
93
Contator de variao de campo
51
Rel de sobrecorrente temporizado
Alm da importncia dos aspectos referentes proteo, outras funes so
igualmente necessrias nos sistemas eltricos de potncia. Desta forma, surge
os dispositivos de seccionamento ou manobra, dentre estes, pode-se destacar:
contatores, disjuntores, seccionadores, etc. Estes equipamentos tem por
240
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
definio a capacidade de interromper e restabelecer correntes sob condies
normais e anormais de operao. A tabela 2 resume alguns dispositivos de
chaveamento, destacando-se as suas funes e aplicaes.
Tabela 2 Dispositivos de chaveamento, suas funes e aplicaes
Abertura
Dispositivo
Funo
Fechamento
Isolao
A
vazio
Com
carga
Curtocircuito
A
vazio
Com
carga
Curtocircuito
sim
No
no
sim
no
sim (*)
Sim
sim
No
no
sim
no
sim (*)
No
sim
Sim
no
sim
sim
Sim
sim (*)
sim
sim
no
sim
sim
Sim
No
sim
sim
sim
sim
sim
Sim
No
Desconector
Chave terra
Seccionadora
Contator
Disjuntor
Dispositivo de conexo mecnica que na
posio aberta garante uma distancia de
isolao
satisfatria
sob
condies
especficas.
Para garantir a segurana de isolao de um
circuito, normalmente associado a uma
chave terra.
Especificamente projetada para conectar os
condutores de fases terra.
Possibilita a desenergizao dos condutores
ativos quando estes so aterrados,
proporcionando uma maior segurana no
manuseio desses condutores.
Dispositivo de conexo mecnica capaz de
estabelecer, sustentar e interromper
correntes sob condies normais e
eventualmente em sobrecargas.
Empregado no controle de circuitos
(abertura e fechamento), utilizada para
realizar a funo de isolao. Em redes de
distribuio de MT so freqentemente
associadas com fusveis.
Dispositivo de conexo mecnica com
capacidade para estabelecer, sustentar e
interromper correntes sob condies normais de
operao. usado, principalmente, no controle
de motores, pois pode exercer a sua funo
freqentemente.
Dispositivo de conexo mecnica com
capacidade para estabelecer, sustentar e
interromper correntes sob condies normais e
anormais de operao.
Substitui os contatores no controle de motores
MT de grande potncia.
Dentro do exposto acima, este captulo tem por objetivo apresentar e discutir
os principais equipamentos de manobra/proteo utilizados na subestao.
241
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
DISPOSITIVOS ELTRICOS EMPREGADOS
EM SUBESTAES
2.1 DISJUNTORES
Os disjuntores so definidos como sendo dispositivos mecnicos destinados a
conduzir e interromper correntes sob condies normais e anormais de
operao, tais como as provenientes de um curto-circuito.
Os disjuntores devem sempre ser instalados acompanhados de rels, que so
elementos responsveis pela deteco das correntes eltricas do circuito que,
aps analisadas por sensores previamente ajustados, podem enviar ou no a
ordem de comando para a sua abertura. Na ausncia de rels, um disjuntor no
passa de uma excelente chave de manobra, no possuindo nenhuma
caracterstica de proteo.
No tocante a proteo, um disjuntor deve interromper as correntes de defeito
de um determinado circuito, durante o menor espao de tempo possvel, de
forma a limitar a um mnimo os possveis danos causados aos equipamentos
conectados jusante.
Os disjuntores so tambm solicitados a interromper correntes de circuitos
operando a plena carga e a vazio, e a energizar os mesmos circuitos em
condies de operao normal ou em falta.
242
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
2.1.1 CARACTERSTICAS ELTRICAS
a) Tenso nominal
Tenso nominal o valor eficaz da tenso pelo qual o disjuntor foi projetado e
construdo, normalmente corresponde a mxima tenso de operao do
sistema para o qual o disjuntor instalado.
b) Nvel de isolamento
o conjunto de valores de tenses suportveis nominais que caracterizam o
isolamento de um disjuntor em relao sua capacidade de suportar os
esforos dieltricos.
c) Tenso suportvel a freqncia industrial (TAFI)
o valor eficaz da tenso senoidal de freqncia industrial que um disjuntor
deve suportar, em condies especificas de ensaio. Normalmente, as normas
recomendam que os disjuntores devem suportar uma determinada tenso
aplicada em funo de sua classe de isolamento. Em relao ao tempo de
aplicao desta tenso, geralmente, por recomendaes normalizadas de 1
minuto.
Por exemplo, para um disjuntor com classe de tenso igual a 15 kV, o valor da
tenso aplicada de 34,5 kV, durante 1 minuto.
d) Tenso suportvel a impulso
o valor de impulso normalizado, atmosfrico pleno ou de manobra, que um
disjuntor suporta em condies previstas de ensaios. Esta tenso define o nvel
bsico de impulso (NBI) do disjuntor. Este ensaio simula as condies
atmosfricas, que podem incidir nos terminais do disjuntor.
243
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
Por exemplo, um disjuntor com classe de tenso igual a 15 kV, deve suportar
um nvel bsico de impulso igual a 95 kV.
e) Tenso de restabelecimento
a tenso que aparece entre os terminais de um plo do disjuntor depois da
interrupo da corrente. Essa tenso responsvel pela reignio do arco entre
os terminais de um plo de um disjuntor.
f) Corrente nominal
o valor eficaz da corrente que o disjuntor deve ser capaz de conduzir
indefinidamente, sem provocar aquecimentos excessivos, ou seja, a elevao
de temperatura no excede seus limites trmicos pr-estabelecidos. Deve-se
destacar que a corrente nominal funo da temperatura ambiente do local de
instalao do referido equipamento.
g) Capacidade de interrupo
a capacidade de interromper o valor eficaz da corrente de curto-circuito,
responsvel pelo efeito trmico, sem danificar os contatos, ou seja, sem
ultrapassar os limites trmicos desses equipamentos.
h) Capacidade de fechamento
a capacidade, em kVA ou MVA, de fechar o circuito. Normalmente, esta
capacidade da ordem de 2,5 vezes a capacidade de interrupo. Esta
condio esta associado ao que se denomina efeito dinmico da corrente de
curto-circuito.
244
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
2.1.2 ARCO ELTRICO
Quando os contatos de um disjuntor, que esto conduzindo uma corrente
eltrica, so separados, d-se a formao de um arco eltrico no ponto de
separao. Se a corrente e a tenso so suficientemente grandes para manter o
arco, forma-se um caminho para a corrente, juntamente com a formao de
gases incandescentes e a temperatura pode elevar-se a cerca de 2000oC. Como
esse arco capaz de deteriorar os contatos, deve-se tomar medidas para
extingui-lo e para isso pode-se utilizar os seguintes procedimentos:
a) Aumento rpido do comprimento do arco
b) Resfriamento do arco
c) Deionizao
d) Restabelecimento rpido da rigidez dieltrica do meio.
Para a almejar estes objetivos, os disjuntores utilizam-se de diversas tcnicas
de interrupo. Dentre as quais, pode-se citar:
a) Jato de ar comprimido (disjuntores pneumticos)
b) Cmara de leo (disjuntores a leo)
c) Cmara de vcuo (disjuntores a vcuo)
d) Jato de SF6 (disjuntores a gs)
Neste sentido, o item subsequente analisa de uma forma sucinta os tipos de
disjuntores utilizados na AT/BT.
245
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
2.1.3 TIPOS DE DISJUNTORES
a) Disjuntores a ar
Os dispositivos de interrupo no ar presso atmosfrica foram os primeiros
a serem usados (disjuntores magnticos). A baixa resistncia dieltrica e a alta
constante de tempo de deionizao (10ms), permitem que o ar presso
atmosfrica possa ser empregado para interromper tenses de at 20 kV. Mas,
para isso, necessrio que se tenha uma capacidade de resfriamento suficiente
para evitar problemas trmicos provocados pelo alto valor da tenso de arco.
Interrupo no ar
O princpio de interrupo no ar consiste na manuteno de um pequeno arco
to longo quanto seja a sua intensidade, com o objetivo de limitar a energia
dissipada. O alongamento do arco ocorre quando a corrente se aproxima do
zero. Para tanto, necessrio uma cmara de interrupo para cada plo do
disjuntor. Esta cmara, instalada no espao existente entre os contatos,
composta por placas refratrias com alta capacidade de resistncia ao calor,
permite que o arco seja alongado entre essas placas. A figura 1 ilustra o
alongamento de um arco eltrico entre as placas de material refratrio na
cmara de interrupo de um disjuntor a ar.
246
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
10
Figura 1 Alongamento de um arco eltrico em uma cmara de interrupo;
Na prtica, quando a corrente diminui, o arco, que fica submetido a ao de
foras eletromagnticas, penetra entre estas placas. Ele se alonga e resfria
sobre os contatos depositando material refratrio at a tenso de arco se tornar
superior a da rede. Desta forma, a resistncia do arco aumenta
consideravelmente e a energia que fornecida pela rede permanecer inferior
a capacidade de resfriamento, e ento, a interrupo se realiza.
Devido a sua alta constante de tempo de deionizao, a energia dissipada
permanece alta, entretanto, o risco de sobretenses durante a interrupo
praticamente inexistente.
Os disjuntores a ar foram largamente utilizados em todas as aplicaes, porm
seu uso limitou-se a tenses inferiores a 24 kV. Para altas tenses, o ar
comprimido utilizado para aumentar a resistncia dieltrica e as taxas de
resfriamento e de deionizao. O arco ento resfriado por um sistema
soprador de alta presso (entre 20 e 40 bars). Esta tcnica tem sido empregada
em disjuntores de alto desempenho ou para altas tenses (superiores a 800
kV).
247
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
11
A tcnica de interrupo a ar presso atmosfrica universalmente adotada
na baixa tenso, devido a sua simplicidade, durabilidade, etc. No entanto, na
mdia tenso existem outras tcnicas mais vantajosas, pois a interrupo no ar
apresenta diversas desvantagens. Dentre elas, destacam-se:
Tamanho do disjuntor (grandes dimenses devido ao comprimento
do arco)
A capacidade de interrupo influenciada pela presena de partes
metlicas e umidade do ar
Custo e rudo elevados
b) Disjuntores a leo
Desde o incio do sculo, o leo vem sendo utilizado como meio de
interrupo. Nos disjuntores, o seu emprego fica limitado entre as tenses de
5 150 kV.
Interrupo no leo
O hidrognio, obtido pela quebra das molculas de leo, serve como meio de
extino, devido s suas excelentes propriedades trmicas e a sua constante de
tempo de deionizao, que melhor que a do ar, especialmente a altas
presses.
Os contatos so imersos no leo isolante. Na separao, o arco provoca a
quebra das molculas de leo liberando hidrognio (70%), etileno (20%),
metano (10%) e carbono livre. A energia do arco de 100 kJ produz
aproximadamente 10 litros de gs, formando bolhas que, devido a inrcia da
massa de leo, esto sujeitas durante a interrupo, uma presso dinmica
248
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
12
que pode atingir valores compreendidos entre 50 e 100 bars. Quando a
corrente passa pelo zero, o gs expande e atinge o arco que ento extinguido.
H dois tipos bsicos de disjuntores a leo, a saber:
Disjuntores a grande volume de leo - os contatos ficam no centro
de um grande tanque contendo leo, que usado tanto para a
interrupo das correntes quanto para prover um isolamento para a
terra. Nos primeiros aparelhos a leo, o arco desenvolvido
livremente entre os contatos criava bolhas de gs dispersas. Para
evitar o reacendimento entre fases ou terminais e terra, estas bolhas
no devem em hiptese alguma alcanar o tanque ou se juntar, como
mostrado na figura 2. Estes disjuntores podem, consequentemente,
ser extremamente grandes. Alm do incomodo do peso, estes
aparelhos apresentam inmeras desvantagens, tais como a falta de
segurana devido ao hidrognio produzido que acumulado sob a
tampa e ao elevado nvel de manuteno exigido para monitorar a
pureza do leo e manter as propriedades dieltricas.
249
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
13
Figura 2 Seo transversal de um disjuntor a grande volume de leo;
Disjuntores a baixo volume de leo O arco e as bolhas so
confinadas em uma cmara de interrupo isolante. A presso do gs
aumenta e o arco passa por um conjunto de sucessivas cmaras,
ento ele se expande atravs de um duto na regio do arco, quando a
corrente passa pelo zero. Por fim, a energia varrida, restaurando as
propriedades dieltricas entre os contatos.
Para grandes correntes, a quantidade de hidrognio produzida e a
correspondente
presso,
aumentam
consideravelmente.
Em
conseqncia, o tempo de arco mnimo so curtos. Por outro lado,
para pequenas correntes, o aumento da presso insignificante e o
tempo de arco longo. O tempo de arco aumenta at um valor
crtico
onde
torna-se
difcil
estabelecer
interrupo.
Adicionalmente, podem ser instalados mecanismos sopradores com
o intuito de melhorar este processo.
c) Disjuntores a vcuo
Nos disjuntores a vcuo o arco que se forma entre os contatos bastante
diferente dos arcos em outros tipos de disjuntores, sendo basicamente mantido
por ons de material metlico vaporizado proveniente dos contatos. A
intensidade da formao desses vapores metlicos diretamente proporcional
intensidade da corrente e, consequentemente, o plasma diminui quando esta
decresce e se aproxima de zero. Atingindo o zero de corrente, o espao entre
os contatos rapidamente deionizado pela condensao dos vapores metlicos
250
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
14
sobre os eletrodos. A ausncia de ons aps a interrupo d aos disjuntores a
vcuo caractersticas quase ideais de suportabilidade dieltrica.
Interrupo no vcuo
O arco eltrico sob condies de vcuo, dependendo da intensidade da
corrente a ser interrompida, pode apresentar caractersticas concentradas ou
difusas.
Para valores de corrente altos (10 kA), o arco concentrado e nico, como
nos fluidos tradicionais, conforme ilustrado pela figura 3(a). Regies do
catodo e anodo, com alguns mm2 de rea, sofrem brusca elevao de
temperatura. Desta forma, uma fina camada de material do contato
vaporizada, portanto o arco desenvolvido em uma atmosfera de vapor
metlico, que ocupa todo o espao existente entre os contatos. Quando a
corrente diminui, estes vapores so condensados nos prprios eletrodos ou em
uma placa metlica instalada para esta finalidade. Neste caso, a tenso de arco
pode atingir 200 V.
Para valores de corrente inferiores a alguns milhares de amperes, a forma do
arco passa a ser difusa, constituda por diversos arcos de formato cnico
separados entre si, com pice no ctodo, conforme mostrado na figura 3(b)
251
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
15
Figura 3 (a) Arco concentrado, (b) Arco difuso;
Para os dois tipos de arco apresentados anteriormente, a extino do arco e a
conseqente interrupo so facilmente alcanadas quando a corrente passa
pelo zero, pois nestas condies os vapores metlicos so condensados.
A metodologia adotada na interrupo a vcuo vem exigindo alguns cuidados
especficos, tais como:
Reduo do fenmeno de corte de corrente para evitar problemas de
sobretenses;
Evitar o desgaste prematuro dos contatos para manter alta
durabilidade;
Atrasar o aparecimento do arco no estado concentrado para aumentar
a capacidade de interrupo;
Limitar a produo de vapor metlico para evitar reignio;
Manuteno do vcuo, essencial para manter as propriedades de
interrupo, durante a vida til do disjuntor.
Para satisfazer as condies impostas acima, os fabricantes desenvolveram
duas alternativas: arco controlado por campo magntico e a composio do
material dos contatos.
I - Campo magntico
Dois tipos de conformaes so utilizados no caso de campo magntico:
252
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
16
Campo magntico radial O campo criado pela circulao da
corrente nos eletrodos projetados para este propsito. No caso de
arco concentrado, a base deste move-se de forma circular, o calor
uniformemente distribudo limitando o desgaste e a concentrao de
vapor metlico. Quando o arco difuso, os pontos movem-se
livremente sobre a superfcie do catodo como se esse fosse um disco
slido. Na figura 4 nota-se que o arco obedece as leis
eletromagnticas, movendo-se do centro para as extremidades dos
contatos.
Figura 4 Campo magntico radial criado entre os contatos;
Campo magntico axial A aplicao de um campo magntico
axial necessita que os ons apresentem trajetria circular, o que
estabiliza o arco difuso e atrasa o aparecimento do estado
concentrado. O aparecimento de pontos no catodo evitado, o
desgaste limitado, permitindo uma elevada capacidade de
interrupo. O campo magntico pode ser gerado interna ou
externamente atravs da circulao permanente da corrente nos
253
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
17
enrolamentos de uma bobina. A figura 5 ilustra o processo de
distribuio do campo magntico axial nos contatos.
Figura 5 Campo magntico axial criado entre os contatos;
II Material do contato
Com o objetivo de manter a qualidade do vcuo, essencial que os materiais
utilizados nas superfcies em contato com o vcuo apresentem elevado grau de
pureza e livres de gases. Alm disso, necessrio que a resistncia eltrica dos
contatos possua um baixo valor, para diminuir a possibilidade de soldagem
dos contatos e boa resistncia mecnica. Deste modo, os principais fabricantes
de disjuntores utilizam ligas metlicas na superfcie dos contatos, tais como:
cobre/cromo (50-80% de Cu, 50-20% de Cr), cobre/bismuto (98% de Cu, 2%
de Bi), etc.
254
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
18
d) Disjuntores a SF6
O SF6 um dos gases mais pesados conhecidos (peso molecular 146), sendo
cinco vezes mais pesados que o ar. presso atmosfrica o gs apresenta uma
rigidez dieltrica 2,5 vezes superior do ar. A rigidez dieltrica aumenta
rapidamente com a presso, equiparando-se de um leo isolante de boa
qualidade presso de 2 bars. A contaminao do SF6 pelo ar no altera
substancialmente as propriedades dieltricas do gs, um teor de 20% de ar
resulta numa reduo de apenas 5% da rigidez dieltrica do gs.
O SF6 um gs excepcionalmente estvel e inerte, no apresentando sinais de
mudana qumica para temperaturas em que leos empregados em disjuntores
comeam a se oxidar e decompor. Por se tratar de um gs eletronegativo, o
SF6 possui uma elevada afinidade na captura de eltrons livres, o que d lugar
formao de ons negativos de reduzida mobilidade. Essa propriedade
determina uma rpida remoo dos eltrons presentes no plasma de um arco
estabelecido no SF6, aumentando, assim, a taxa de diminuio da condutncia
do arco quando a corrente se aproxima de zero.
Foram desenvolvidas vrias tcnicas para a interrupo de correntes eltricas
utilizando-se o SF6. Dentre as quais, pode-se apresentar:
Autocompresso Simultaneamente com a separao dos contatos de
arco, um mbolo, em cuja extremidade encontra-se o contato mvel, se
movimenta comprimindo o SF6, medida que o contato mvel se afasta
do fixo. O gs ento direcionado para a regio dos contatos, atingindo o
arco de forma transversal, retirando calor e provocando a sua extino.
255
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
19
Para elevadas correntes, o arco causa um efeito de bloqueio que contribui
para o acmulo de gs comprimido. Quando a corrente se aproxima do
zero, o arco resfriado e extinto devido injeo de novas molculas de
SF6. O valor mdio da tenso de arco encontra-se entre 300 e 500 V. A
figura 6 mostra a tcnica da autocompresso.
Figura 6 Princpio de funcionamento da autocompresso;
Arco rotativo Nesta tecnologia, o resfriamento do arco provocado pelo
seu prprio movimento no gs SF6. A elevada velocidade no movimento
de rotao do arco (que pode exceder a velocidade do som), causada por
um campo magntico criado pela circulao, em uma bobina ligada em
srie com o contato de arco fixo, da prpria corrente a ser interrompida no
momento da abertura. Quando os contatos principais se separam, a corrente
forada a circular pela bobina, acarretando o aparecimento de um campo
magntico. Portanto, a energia necessria para extinguir o arco fornecido
pelo prprio sistema, este fato possibilita que esta tcnica de interrupo
256
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
20
apresente um mecanismo de comando mais simples e econmico quando
comparado com as demais tcnicas. A rpida movimentao da base do
arco sobre os contatos reduz substancialmente o seu desgaste. A figura 7
representa a tecnologia empregada no uso do arco rotativo.
Figura 7 Tcnica do arco rotativo;
Auto-expanso Basicamente esta tcnica utiliza a prpria energia
dissipada pelo arco para elevar a presso de um pequeno volume de SF6
que penetra em uma cmara de expanso, conforme pode ser observado na
figura 8(a). Para altas correntes, o arco possibilita um efeito de bloqueio
direcionando o gs para o orifcio da cmara de expanso. A temperatura
desse gs confinado aumenta devido dissipao trmica do arco
(principalmente por radiao), criando um diferencial de presso. Quando a
corrente se aproxima do zero, o gs confinado se expande formando um
fluxo de molculas de SF6 em direo aos contatos, propiciando o
resfriamento do arco e extinguindo a energia calorfica como se fosse um
sistema de autocompresso. Dois mtodos podem ser utilizados para o
257
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
21
aperfeioamento da referida tcnica, estes consistem na centralizao do
arco na regio na qual ocorre a expanso do SF6. O mtodo mecnico
consiste no confinamento do fluxo gasoso com o auxlio de placas
isolantes, como se observa na figura 8(b). No caso do mtodo magntico,
um campo magntico devidamente dimensionado, centraliza o arco na
regio de expanso de SF6 com um rpido movimento rotacional similar
tcnica do arco rotativo, como mostrado na figura 8(c).
Figura 8 (a) Auto-expanso; (b) Mtodo mecnico; (c) Mtodo magntico;
O item a seguir traz um comparativo entre os diversos tipos de disjuntores e a
tendncia do mercado europeu nos ltimos 20 anos.
2.1.4
COMPARAO ENTRE AS DIVERSAS TCNICAS
DE INTERRUPO
258
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
22
Atualmente na baixa tenso (BT), com rarssimas excees, a tcnica de
interrupo no ar a nica utilizada. Na EAT, a interrupo em SF6
praticamente a nica empregada. Nas aplicaes de MT, onde todas as
tcnicas podem ser usadas, a interrupo vcuo e a SF6 vem substituindo a
interrupo a ar por razes de custos e tamanho, conforme ilustra a figura 9.
Observa-se, tambm nesta figura, que a tcnica de interrupo a leo vem se
tornando cada vez mais obsoleta, quando em comparao com as modernas
tcnicas vcuo e a SF6. Isto se justifica pois as mesmas apresentam maiores
confiabilidade, segurana e manuteno reduzida.
Figura 9 Trajetria dos disjuntores de MT no mercado europeu;
A tabela 3 faz uma comparao entre as diversas tcnicas de interrupo,
utilizadas nos disjuntores de mdia tenso, destacando as vantagens da
utilizao do SF6/Vcuo em relao ao leo e ar.
259
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
23
Tabela 3 Comparao entre as diversas tcnicas de interrupo.
leo
Ar
Tamanho
Risco de exploso e fogo
se a presso aumentar.
Mltiplas operaes causa
falhas.
Volumoso
Manuteno
Troca regular de leo
Sensibilidade ao meio
ambiente
Ciclo rpido de
abertura
Umidade, poeira, etc.
Efeitos externos
significativos (emisso de
gs quente e ionizado
durante a interrupo)
Instalao exige grandes
distancias.
Substituio dos contatos
de arco quando possvel.
Manuteno regular do
mecanismo de controle.
Umidade, poeira, etc.
Suportabilidade
Medocre
Segurana
A lenta evacuao do ar
quente exige uma
capacidade de
superdimensionar.
Mdia
SF6/Vcuo
Sem riscos de exploso e
efeitos externos
Pequeno
Nada para os componentes
de interrupo.
Lubrificao mnima no
mecanismo de controle.
Insensvel. Lacrado por
toda a vida.
Tanto o SF6 como o vcuo
restabelecem rapidamente
as suas propriedades. No
h a necessidade de
sobredimensionamento.
Excelente
2.1.5 QUADRO COMPARATIVO
A ttulo de informao, mostra-se no quadro resumo 3, um estudo
comparativo de algumas caractersticas dos disjuntores de entrada exigidas
pelas principais concessionrias de energia eltrica.
260
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
24
Quadro Resumo 1 Estudo comparativo das exigncias das concessionrias quanto aos
disjuntores de entrada
Equipamento
padro=S=
atende?
CERJ
Sim
CPFL
Sim
CELESC
Sim
ELETROPAULO Sim
CEMIG
Sim
CELPE
Sim
COELCE
Sim
DISJUNTOR DE ENTRADA
Existe ficha
tcnica da
concessionria
Equipado com dispositivo mecnico de desligamento alm
dos dispositivos eltricos de ligar e desligar.
No
Para definio do nvel da capacidade de interrupo,
consultar a concessionria.
Tempo de interrupo inferior a 3 ciclos.
A capacidade de interrupo no dever ser inferior a 31,5
kVA.
Capacidade de interrupo dimensionada de acordo com
No
informaes do nvel de curto-circuito CELESC.
Icc = 33 kA em 88 kV
Icc = 31,4 kA em 138 kV
A ser fixado pela CEMIG para cada local especfico.
No
Para efeito de oferta consultar concessionria.
In 600 A 60 Hz
Tenso mxima 72,5 kV
Sim
Iccmx = 12,5 kA
Aconselhvel uso de TRIP CAPACITIVO
In = 1.600 a
Sim
Icc = 20 kA
2.2 FUSVEIS
Os fusveis so dispositivos de interrupo sbitas, extremamente eficazes na
proteo de circuitos de mdia tenso devido s suas excelentes caractersticas
de tempo e corrente. Eles devem ser manualmente repostos para restaurar a
operacionalidade do circuito.
261
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
25
Enquanto os disjuntores necessitam de equipamentos adicionais (rels e TCs)
para detectar e interromper correntes anormais, os fusveis possuem
caractersticas prprias de deteco e interrupo, as quais devem ser
coordenadas com outros dispositivos de proteo.
Os fusveis so empregados para executar a proteo de transformadores de
fora, acoplados, em geral, a um seccionador interruptor, ou ainda, na
substituio do disjuntor geral de uma subestao de pequeno porte, quando
associados a um interruptor automtico. Eles tambm so largamente
utilizados na proteo de motores de MT e banco de capacitores.
A principal caracterstica deste dispositivo de proteo a capacidade de
limitar a corrente de curto-circuito em tempos extremamente reduzidos de
atuao. Por possuir uma elevada capacidade de interrupo, os fusveis
limitadores so largamente utilizado em sistemas eltricos onde o nvel de
curto-circuito elevado.
O fusvel limitador de corrente um dispositivo de interrupo nico, pois no
aguarda a passagem de corrente pelo zero para efetuar a abertura, mas fora a
mesma a anular-se.
2.2.1 CARACTERSTICAS NOMINAIS
a) Tenso nominal (Vn)
262
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
26
o maior valor da tenso de operao entre fases (expressa em kV) da rede na
qual o fusvel poder ser instalado. Os valores padronizados para as tenses
nominais, so: 3,6 7,2 12 17,5 24 36 kV.
b) Corrente nominal (In)
A corrente nominal aquela em que o elemento fusvel deve conduzir
continuamente sem ultrapassar o limite de temperatura padronizado. Esta
temperatura depender dos elementos que compem o fusvel.
c) Corrente mnima de interrupo (I3)
Neste valor de corrente feita a distino entre fuso e interrupo. Para
intensidade de correntes inferiores a I3, o fusvel funde mas pode no
interromper. Neste caso, o arco mantido at a corrente ser interrompida por
uma ao externa. Os valores usuais para I3 se encontram entre 2 e 6 In.
d) Corrente na regio onde a energia produzida pelo arco mxima (I2)
O valor de I2 est localizado, dependendo do elo fusvel, na faixa entre 50 a
100 In. Esta corrente responsvel por um tempo de pr-arco da ordem de 5
ms.
e) Corrente mxima de interrupo (I1)
263
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
27
a maior corrente de defeito presumida que o fusvel pode interromper. A
ordem de grandeza de I1 de 20 a 50 kA ou mais. Estes nveis de corrente so
oriundos de situaes que envolvem curto-circuitos.
f) Caracterstica tempo x corrente
Para cada tipo de elo fusvel, a fuso ou o tempo de pr-arco associado a um
correspondente valor rms de corrente. O tempo de pr-arco para cada valor de
corrente pode ser encontrado atravs de uma curva logaritma padronizada,
conforme mostrado na figura 10.
Figura 10 - Tempo de pr-arco em funo da corrente;
Esta curva corresponde somente ao pr-arco. O tempo de arco (tipicamente de
5 a 50ms) deve ser adicionado para obter-se o tempo total. Esta curva
importantssima, pois pode-se analisar a seletividade deste componente com
os demais elementos de proteo existente na instalao eltrica.
f) Curva caracterstica da corrente limitada
264
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
28
Esta curva, mostrada na figura 11, complemento indispensvel caracterstica
tempo x corrente, determina o valor de pico da corrente limitada em relao a
corrente de curto presumida.
Figura 11 - Relao entre a corrente presumida e a limitada;
Nota-se na figura acima que, para uma corrente presumida de 40kA (ponto A),
um fusvel de 200A limitaria a corrente em 25kA (ponto B), fato este que
reduz consideravelmente os danos provocados pelos esforos eletrodinmicos
produzido por uma corrente de curto-circuito.
2.3 SECCIONADORAS
So utilizadas exclusivamente para estabelecer a conexo ou a separao de
dois componentes ou circuitos de um sistema eltrico. No se exige das
chaves seccionadoras a capacidade de abertura e interrupo de quaisquer
265
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
29
correntes. Em funcionamento, isto , com os seus contatos fechados, elas
devem ser capazes de manter a conduo de sua corrente nominal, sem sobreaquecimento. Alm disso, devem suportar todos os efeitos trmicos e
dinmicos das correntes de curto-circuito, sem se danificar. A vazio, isto ,
com seus contatos abertos, devem estabelecer um nvel suficiente de
isolamento. Os seccionadores so utilizados em subestaes para permitir
manobras
de
circuitos
eltricos,
sem
carga,
isolando
disjuntores,
transformadores de medio e de proteo e barramentos. Tambm so
utilizados em redes areas de distribuio com a finalidade de seccionar os
alimentadores durante a manuteno ou para realizar manobras operacionais.
Interruptores:
So equipamentos de manobra que podem interromper correntes de qualquer
natureza, at poucas vezes a corrente nominal. Normalmente, os interruptores
so pequenos disjuntores, ou disjuntores de pequena capacidade nominal.
Chaves seccionadoras sob carga:
So chaves seccionadoras construdas com dispositivos especiais de extino
de arco, em seus contatos fixos e mveis, capazes de interromper at sua
corrente nominal, ou seja, a sua operao poder ser realizada com carga.
Chaves Seccionadoras Disjuntoras:
So disjuntores que igualmente atendem as condies de chaves
seccionadoras. So construdas excepcionalmente somente para pequenas
capacidades principalmente de interrupo.
266
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
30
2.3.1 CARACTERSTICAS CONSTRUTIVAS
a) Chaves Seccionadoras
Conforme citado anteriormente, as chaves seccionadoras servem para isolar
componentes ou circuitos de quaisquer outras partes sob tenso. Sob aspecto
de segurana, pode-se considerar um circuito isolado se o mesmo estiver
interrompido por uma chave seccionadora.
b) Tipos de Seccionadoras
Quanto aplicao no circuito, pode-se considerar os seguintes tipos de
chaves seccionadoras:
b1) Chaves Seccionadora Simples (Abertura a Vazio):
Destinadas a abrir circuitos somente vazio, nunca sob corrente;
b2) Chaves Seccionadora sob Carga:
Destinados a abrir circuitos sob corrente nominal. Este tipo de seccionadora
encontrado para mdia e baixas tenses. Em alta tenso somente a SF6;
b3) Chave de Aterramento
Destinada a aterrar um componente ou circuito. So utilizados em redes com
ponto neutro aterrado atravs de baixa resistncia hmica e, em particular,
para instalaes exteriores.
As principais caractersticas so:
- Alta segurana para o pessoal de servio;
267
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
31
- Aumento da segurana de alimentao;
- Intertravamento contra conexes s partes j aterradas;
- Reduo do tempo fora de servio, durante a manuteno e reparos.
c) Tipos de Abertura
c1) Lateral Simples
c2) Abertura Lateral Dupla com uma Coluna Rotativa
268
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
32
c3) Abertura Lateral Dupla com duas Colunas Rotativas
c4) Abertura Vertical
c5) Chave Pantogrfica
c6) Chave Semi-Pantogrfica
269
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
33
d) Tipos de Acionamento
- Manual
- Motorizado
- Ar comprimido
e) Acessrios
e1) Chaves Auxiliares (Baixa Tenso)
e2) Lmina de Terra
Este acessrio tem como funo realizar o aterramento logo aps a
abertura da chave seccionadora.
2.3.2 QUADRO COMPARATIVO
A ttulo de informao, mostra-se nos quadros resumo 2 e 3, respectivamente,
um estudo comparativo de algumas caractersticas das seccionadoras de
270
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
34
entrada e de By-Pass exigidas pelas principais concessionrias de energia
eltrica.
Quadro Resumo 2 Estudo comparativo das exigncias das concessionrias quanto as
seccionadoras de entrada
SECCIONADORA DE ENTRADA
Existe ficha tcnica
da concessionria?
CERJ
No
Manual ou motorizada sem lmina de terra com chifres
In 600 A
CPFL
No
Tripolar com operao simultnea de trs plos sem lmina de terra
Manual ou motorizada com lmina de terra do lado da linha.
CELESC
No
A lmina s poder ser operada com autorizao prvia da CELESC.
ELETROPAULO No
Manual ou motorizada sem lmina de terra.
Manual ou motorizada com lmina de terra do lado da linha.
CEMIG
No
Aterramento da lmina somente com autorizao da CEMIG.
In 600 A
Manual ou motorizada, com lmina de terra.
CELPE
No
Aterramento do lado da instalao do consumidor e nunca a LT que a
alimenta.
Manual ou motorizada com chifres para extino de arcos.
Abertura horizontal ou vertical.
COELCE
Sim
Com lmina de terra.
Aterramento ao lado da linha.
In = 800 A/ Icc = 12,5 kA.
Quadro Resumo 3 Estudo comparativo das exigncias das concessionrias quanto as
seccionadoras By-Pass.
CERJ
CPFL
CELESC
ELETROPAULO
CEMIG
SECCIONADORA DE BY-PASS
Permitido, porm sujeito aprovao da concessionria quando o arranjo da subestao
apresentar disjuntores nas linhas e no lado AT dos trafos. Vedado no caso de haver
somente disjuntor na entrada.
No permitido.
Admite seccionadora de by-pass.
Sujeito aprovao.
No permitido.
Permitido/sujeito aprovao da concessionria.
271
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
CELPE
COELCE
35
permitido/sujeito aprovao da concessionria.
permitido. Sujeito aprovao.
2.4 RELS DE PROTEO
2.4.1 - GENERALIDADES
Estudou-se nos captulos anteriores que em geral os danos mais graves para os
equipamentos eltricos so provocados pelas seguintes condies anmalas:
Sobreintensidades (provocam sobretemperaturas);
Sobretenses (causadoras de fadigas e disrupes dieltricas);
Curtos-circuitos (causadores de danos por sobreaquecimento e por foras
eletrodinmicas);
Subfrequncias e sobrefrequncias (causadoras de falhas de sincronismo,
de sobreintensidade e sobretenso);
Inverso de potncia;
Sobretemperatura;
Estas condies devem ser sentidas pelos rels de proteo ou pelas
protees internas dos equipamentos (rels de gs, imagem trmica,
termmetro, etc).
272
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
36
Os rels de proteo devem possuir caractersticas tais que permitam
distinguir com a maior segurana uma situao de defeito de uma condio
normal de operao.
De uma maneira geral, um rel de proteo deve apresentar as seguintes
caractersticas de projeto:
Operar com segurana nas condies de defeito para o qual foi projetado,
devendo permanecer inoperante para qualquer outra situao.
Deve possuir uma faixa de ajuste suficientemente ampla de forma a
permitir seletividade entre os outros rels.
Deve ser imune a ocorrncia de transitrios de tenso e corrente
proveniente de transformadores de instrumentos (TPs e TCs), bem como
da alimentao de corrente contnua. Isso se aplica principalmente a rels
de alta velocidade, onde o tempo de operao menor ou igual a 0,05s.
Atender as especificaes tcnicas internacionais.
Apresentar robustez em seus elementos principais, tais como bobinas e
contatos.
Baixo consumo dos circuitos alimentados pelos TCs.
2.4.2 - PRINCIPAIS TIPOS CONSTRUTIVOS
Quanto as caractersticas construtivas, os rels podem ser divididos em 5
categorias:
Atrao axial
Disco de induo
273
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
37
Watmetro
Estticos
Eletrnicos
Existem ainda, dois tipos de rels utilizados como proteo interna de
transformadores e geradores:
Rel trmico
Rel de gs
Os rels eletromecnicos por serem amplamente conhecidos no sero
comentados.
a) Rels estticos
Os rels estticos tm o mesmo princpio de funcionamento dos rels
eletrodinmicos, ou seja, comparam os valores de tenso e/ou corrente com os
valores de ajuste.
No entanto, ao invs de ter discos de induo e bobinas, os rels estticos so
construdos
com
circuitos
eletrnicos
comparadores,
amplificadores
operacionais e unidades de sada em contato.
O rel esttico muito mais rpido e tem um consumo muito inferior ao rel
eletrodinmico. Alm disto, as dimenses so bastante reduzidas no rel
esttico. Adicionalmente permitem uma grande faixa de ajuste, o que sem
dvida reduz os problemas de coordenao normalmente encontrados.
Os rels estticos podem ser montados individualmente ou por funo.
b) Rels eletrnicos
274
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
38
A proteo feita atravs de rels eletrnicos (digital) a mais moderna. Estes
equipamentos so microprocessadores, ou seja, tem um alto nvel de
confiabilidade associado a uma rapidez de atuao.
c) Rels trmicos
Consiste em geral de uma lmina bimetlica aquecida pela passagem de
corrente eltrica num resistor colocado adjacente. A lmina ao se distender ir
modificar a posio dos contatos, para a posio aberto. Nestas condies, o
circuito fica desenergizado, e consequentemente desligando os ramais por ele
protegido. Deve-se atentar pelo fato que o rel trmico vem associado a outro
dispositivo de seccionamento ( contatores, disjuntores,etc.).
d) Rels de Gs
Este rel detecta dois tipos de defeitos:
Mau contato
Curtos-circuitos
O mau contato de partes internas do transformador provoca sobreaquecimento
que como conseqncia acumular lentamente o gs na parte superior do
tanque.
Na ocorrncia de um curto-circuito acontece a liberao de gs inflamvel que
se acumula na parte superior do tanque do transformador. A figura 12 mostra
o rel de gs aplicado como proteo de transformadores.
275
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
39
Figura 12 Diagrama esquemtico mostrando a posio do Rel de Gs;
Observa-se que este rel possui um sensor para fluxo de leo e um para
acmulo de gs.
O sensor de fluxo de leo atua quando ocorre curto-circuitos violentos,
internos ao transformador. O sensor para acmulo de gs atua para correntes
de curto-circuitos pequenas e para maus contatos prolongados. Caso haja
vazamento de leo isolante o rel de gs tambm opera quando o nvel do leo
estiver abaixo de um ponto crtico.
276
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
40
2.4.3 CLASSIFICAO QUANTO AO TEMPO DE OPERAO
Apesar de se esperar a maior rapidez possvel na atuao de um rel,
normalmente, por questes de seletividade entre os vrios elementos de
proteo, necessrio permitir uma certa temporizao antes que ordene a
abertura do disjuntor. Logo, tomando-se como base estas consideraes, os
rels podem ser classificados quanto ao tempo de operao em :
Instantneos;
Temporizados com retardo dependente;
Temporizados com retardo independente.
Os rels instantneos no apresentam nenhum retardo intencional no tempo de
atuao.
Os rels temporizados com retardo dependente so os mais utilizados nos
sistemas eltricos. So caracterizados por uma curva de temporizao
normalmente inversa, cujo retardo funo do valor da grandeza que o
sensibiliza. A figura 13 mostra a curva tpica de um rel temporizado de
retardo dependente.
O rel temporizado com retardo independente, ao contrrio do anterior,
caracterizado por um tempo de atuao constante, independentemente da
magnitude da grandeza que o sensibiliza. A figura 14 apresenta as curvas de
um rel particular para operao por corrente.
277
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
41
Figura 13 - Curva tpica de rel temporizado com retardo dependente;
Figura 14 - Curva tpica de rel temporizado com retardo independente;
2.4.4 CLASSIFICAO DOS RELS QUANTO FUNO
Os rels quanto as suas funes podem ser classificados de acordo com os
enunciados abaixo:
Rel de sobrecorrente (50/51)
Rel diferecial (87)
Rel direcional (67)
Rel de distncia (21)
278
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
42
Rel de religamento (79)
Rel de sincronismo (25)
Rel de falha de disjuntor (50BF)
Rel de sobretenso (59)
Rel de subtenso (27)
Rel de oscilao de potncia (68)
Rel de sobrecorrente com controle de tenso (51V)
Rel de inverso e perda de fase
Rel de terra (50/51 GS)
a) Rel de sobrecorrente
de todas as protees a mais simples e a mais econmica. Esta proteo atua
sempre que as correntes em uma mquina ou em um trecho do circuito
ultrapassa o valor mximo estabelecido.
A corrente de atuao deve sempre ser reajustada quando h uma alterao da
potncia nominal do sistema.
Em sistemas de baixa tenso a corrente pode ser medida por rels de
sobrecorrente inseridos diretamente no circuito. Em todos os outros casos, a
corrente medida atravs de um TC, e o seu secundrio est ligado no rel de
sobrecorrente.
As protees de sobrecorrentes so usadas em:
Transformadores (retaguarda por falta externa)
279
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
43
Motores e geradores
Circuitos de distribuio e de subtransmisso (onde no se justifica a
proteo de distncia), como proteo de falta fase terra.
Linhas de distribuio ( com rels de distncia para proteo de fase) como
proteo de falta a terra.
Linhas com proteo primria por fio piloto, como proteo de retaguarda.,
O diagrama bsico unifilar de uma proteo por sobrecorrente mostrado na
figura 15.
Figura 15 Sistema eltrico representativo de um subestao com
as protees de sobrecorrente
Os rels de sobrecorrente podem ser:
Eletromecnicos
Estticos
Eletrnicos
280
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
44
Os rels eletromecnicos dispem de dois ajustes independentes:
Ajuste de corrente de atuao
Ajuste de tempo de atuao
A primeira regulao feita ou por variao do entreferro, ou por tenso da
mola de restrio ou por seleo de uma tomada de bobina (ajuste de taps).
O ajuste de tempo efetuado ajustando o percurso do contato mvel (DT) ou
ento por meio de dispositivos mecnicos de temporizao.
Apesar de os ajustes serem independentes, h uma inter-relao entre a
corrente e o tempo de atuao.
Os rels estticos de sobre-intensidade
so construdos seguintes blocos
eletrnicos:
Entrada
Ajuste de corrente
Ajuste de tempo
Sinalizao e comando
Alimentao auxiliar
Os rels eletrnicos so microprocessadores que atuam atravs de lgica
digital.
b) Rel diferencial de sobrecorrente
281
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
45
Este tipo de proteo compara vetorialmente duas correntes eltricas em dois
pontos de um mesmo sistema (por exemplo, em dois pontos de um barramento
ou entre dois enrolamentos de um transformador). Caso haja um diferena
entre as correntes, superior a um determinado valor ajustado, o rel
sensibilizado, enviando ao disjuntor uma ordem de abertura. A diferena
vetorial pode ser determinada diretamente (rel diferencial amperimtrico) ou
em percentagem (rel diferencial percentual). Usa-se o sistema diferencial na
proteo de transformadores, reatores, geradores e barramentos. Na figura 16
observa-se a operao do rel diferencial para o ponto F, localizado dentro de
sua zona de proteo.
Figura 16 - Operao do rel diferencial para ponto de falta F, localizado
dentro de sua zona de proteo;
Nas conexes deve-se atentar para as polaridades do TC e os grupos de
ligao. Observa-se na figura 16 que, as ligaes dos TCs so estrela se as
ligaes do transformador tringulo e vice-versa.
282
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
46
Esta proteo sensvel a defeitos internos dos transformadores, barramentos,
geradores e reatores.
Por exemplo no caso de transformadores, pode proteger contra curto-circuitos
entre espiras, contra arcos nas buchas, contra curtos para o ncleo carcaa,
etc.
c) Rel direcional
A proteo direcional detecta a inverso do fluxo de potncia, com valores de
tenso prximos dos normais. necessariamente, uma proteo temporizada
para evitar atuaes incorretas durante as inverses momentneas de energia
que ocorrem durante as oscilaes de potncia sincronizante dos geradores ou
quando das reverses de energia que acontecem aps curtos-circuitos.
Na figura 17 est esquematizada uma proteo direcional. O rel 67 recebe um
sinal de corrente de um TC e, um sinal de tenso de um TP. Na ocorrncia de
uma inverso no sentido de corrente, o rel 67 operar.
283
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
47
67 3
- Bobina de corrente da unidade temporizada da fase C; 67-3 - Unidade direcional
TOC
da fase C;
67 3
- Bobina de corrente da unidade direcional da fase C
TOC
Figura 17 - Conexo tpica do rel direcional;
Associado ao rel 67, atua tambm o rel 67N o qual funciona da seguinte
maneira. A sua atuao no caso de falta fase-terra, consiste em aparecer uma
tenso de seqncia zero no interior do tringulo aberto dos secundrios do
TP. Esta tenso, associada corrente de neutro (corrente de desequilbrio)
provoca a operao do rel 67N.
284
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
48
d) Rel de Religamento
O rel de religamento tem por finalidade reduzir o tempo de interrupo de
energia e conservar a estabilidade do sistema. Estes podem ser para
religamento monopolar ou tripolar. Esta seleo feita atravs de uma chave
seletora do prprio rel.
O acionamento do religamento funo da aplicao em que o rel est sendo
empregado. Todo rel de religamento tem uma entrada para bloqueio e
atuao, que tambm funo da aplicao do rel.
e) Rel de Sobretenso
A proteo contra sobretenses devidas a surtos de manobra ou atmosfricas
feita com pra-raios. Para sobretenses de maior durao e de valor mais
baixo so utilizadas as protees com rels de sobretenses.
Os rels de sobretenso so ajustados para um valor mximo de tenso
admissvel; a ultrapassagem deste valor provoca a atuao do rel e o disparo
dos disjuntores correspondentes.
Em linhas de Extra Alta Tenso (EAT) so usadas duas protees de
sobretenso, uma instantnea e outra temporizada; a instantnea atua para
defeitos simultneos nas 3 fases, ao passo que a temporizada funciona para
sobretenses em qualquer das fases.
A proteo de sobretenso instantnea envia um sinal via carrier, para o
outro extremo da linha destinado ao desligamento do disjuntor a alocado.
285
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
49
Em transformadores instalados em subestao de E.A.T. a proteo de
sobretenso desliga os disjuntores dos lados de A.T. e B.T..
f) Rel de Subtenso
O rel de subtenso ajustado para um valor mnimo de tenso admissvel; a
reduo da tenso a valores abaixo do ajuste provoca a atuao do rel.
Em subestaes a proteo de subtenso combinada com a de sobrecorrente
para caracterizar melhor o curto-circuito. Estes rels tambm so utilizados
nos esquemas de religamento onde possvel o religamento do disjuntor sem
verificao de tenso.
g) Rel de Oscilao de Potncia
O rel de oscilao de potncia aplicado em conjunto com o rel de distncia
afim de que oscilaes de potncia de curta durao no permitam que o rel
de distncia opere e cause o desligamento dos disjuntores da linha . A sua
operao do tipo temporizada.
h) Rel de Sobrecorrente Controle de Tenso
um rel acionado pela corrente do circuito (bobina de corrente) mas cuja
ao restringida pela prpria tenso do circuito (bobina de tenso).
286
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
50
Na ocorrncia de um curto-circuito acontece uma sobrecorrente associada a
uma reduo significativa (s vezes at zero) da tenso, da a utilizao deste
tipo de rel para caracterizar melhor a ocorrncia de falta.
i) Rel de Terra
O rel de terra um dispositivo de sobrecorrente com ajuste bastante baixo, de
modo a detectar correntes de defeito de baixa intensidade. Os rels de terra
podem ser tambm de tenso, polarizados ou no, que detecta tenso de
seqncia zero, que causada por uma falta terra.
Esta proteo podem tambm ser ligados a TCs de janela que ao abraar as
trs fases do circuito ir enxergar a corrente de desequilbrio do circuito,
com um ajuste adequado distingue-se uma corrente de desequilbrio da carga
de uma corrente de defeito.
As Figuras 18 e 19 indicam a utilizao de um rel de terra.
52
51
51
51T
Figura 18 Rels de terra associado a trs transformadores de corrente;
287
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
51
TC DE
JANELA
52
51T
Figura 19- Rel de terra associado a um TC tipo janela;
2.5 PRA-RAIOS
2.5.1 - INTRODUO
Os pra-raios so equipamentos responsveis por funes de grande
importncia nos sistemas eltricos de potncia, contribuindo decisivamente
para a sua confiabilidade, segurana e continuidade de operao.
Os equipamentos de uma subestao podem ser solicitados por sobretenses
provenientes de ocorrncias no sistema ou de descargas atmosfricas. Com o
objetivo de impedir que estes equipamentos sejam danificados, necessrio a
instalao de dispositivos de proteo contra sobretenses, sendo os pra-raios
os dispositivos mais adequados para esta finalidade. Atuam como limitadores
de tenso, impedindo que valores acima de um determinado nvel prestabelecido possam alcanar os equipamentos para os quais fornecem
proteo.
288
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
52
Do ponto de vista construtivo, o pra-raios um equipamento bastante
simples, constitudo de um elemento resistivo no-linear associado ou no a
um centelhador em srie. Em condies normais de operao, o pra-raio
semelhante a um circuito aberto. Na presena de sobretenses, o centelhador
dispara e uma corrente passa a circular pelo resistor no-linear, impedindo que
a tenso em seus terminais ultrapasse um determinado valor. possvel a
eliminao do centelhador, utilizando-se somente o resistor no-linear, se o
material no-linear apresenta caracterstica suficientemente adequada para este
fim.
A figura 20 apresenta a caracterstica tenso x corrente de um pra-raio ideal.
Figura 20 - Caracterstica V x I de um pra-raios ideal;
Conforme pode ser observado na figura 20, um pra-raios ideal seria aquele
que iniciaria o processo de conduo aps a tenso ter alcanado um
determinado valor e que manteria a tenso terminal constante, independente
do valor de corrente. Na prtica, esta caracterstica ideal no existe, sendo a
caracterstica no-linear indicada na figura 21.
289
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
53
A figura 21 apresenta a curva tenso x corrente para o carboneto de silcio
(SiC) e para o xido de zinco (ZnO), elementos utilizados no componente
no-linear do pra-raios.
Figura 21 - Caractersticas de dois pra-raios com o mesmo
nvel de proteo 550kV / 10kA;
Caso a caracterstica do material utilizado no pra-raio seja suficientemente
no-linear, aproximando-se, portanto, do pra-raios ideal, os gaps srie
podem ser desprezados e o pra-raios seria constitudo somente de um resistor
no-linear. A figura 21 mostra que o ZnO apresenta uma caracterstica nolinear superior a do SiC na regio de correntes mais baixas.
Atualmente, os principais fabricantes de pra-raios esto fabricando somente
pra-raios de ZnO na rea de transmisso de energia eltrica. Para os sistemas
de distribuio, ainda esto sendo utilizados pra-raios construdos com outros
materiais.
Os pra-raios de xido de zinco podem ser construdos com gaps em srie
ou paralelo, de acordo com a linha de projeto de cada fabricante, ou para
290
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
54
atender alguma necessidade especial requerida pelo sistema eltrico. A
tendncia atual est na fabricao de pra-raios de xido de zinco desprovidos
de centelhadores de qualquer espcie. Os pra-raios de ZnO apresentam
simplicidade construtiva muito grande, pois se constituem somente de
pastilhas de elementos no-lineares, montados dentro de um invlucro de
porcelana. A figura 22 ilustra o aspecto construtivo de um pra-raio ZnO.
Haste de conexo
Flange
(Liga de alumnio)
Anel elstico
Tubo de exausto e
dispositivo de
sobrepresso nos
flanges superior e
inferior
rebite
Blocos de xido de zinco (ZnO)
Arruela
Placa
Indicadora
de falta
Espaador
Tubo de
exausto
Isolao trmica
Invlucro de porcelana
Mola de compresso
Flange
Vedao de borracha
Dispositivo de
aperto
Dispositivo de sobrepresso
Dispositivo
de fixao
Figura 22 - Seo longitudinal de um pra-raios de xido de zinco (ZnO);
291
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
55
2.5.2 -CARACTERSTICAS ELTRICAS DOS PRA-RAIOS
DE XIDO DE ZINCO (ZNO)
Tenso nominal (kV rms)
A tenso nominal de um pra-raio o valor mximo eficaz da tenso na
frequncia industrial aplicada aos seus terminais no ensaio de ciclo de servio,
para o qual o pra-raios foi projetado e tem condies de operar
satisfatoriamente, durante o ensaio. O valor da tenso nominal utilizado para
a especificao de suas caractersticas de operao.
Tenso mxima de operao em regime contnuo (kV rms)
o maior valor de tenso para o qual o pra-raios projetado, de modo a
operar continuamente com esta tenso aplicada a seus terminais.
Capacidade de sobretenso temporria
A capacidade de sobretenso temporria definida em funo da caracterstica
de suportabilidade tenso x durao, onde o tempo para a qual permitida a
aplicao de uma tenso superior tenso mxima de operao em regime
contnuo nos terminais do pra-raios.
Nvel de proteo a impulso de manobra (kV pico)
O nvel de proteo a impulso de manobra depende da corrente de conduo
no pra-raios, a qual aumenta a medida que o valor de impulso de tenso
aumenta. Com o intuito de definir o nvel de proteo a impulso de manobra,
deve ser estabelecido um valor para a corrente de coordenao. Geralmente, o
292
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
56
valor de 3 kA adotado na ausncia de estudos especficos, uma vez que este
valor dificilmente ser ultrapassado na prtica.
Tenso residual (kV pico)
a tenso que aparece no pra-raios quando da passagem de uma corrente de
impulso na forma 8 x 20 s. Normalmente, os ensaios so realizados para
impulsos de corrente de valor 1,5; 3; 5; 10; 15; 20 e 40 kA. A tenso residual
depende da forma de onda do impulso aplicado e, geralmente, os fabricantes
fornecem informaes relacionando a tenso residual com a frente de onda do
impulso aplicado.
Capacidade de absoro de energia
A capacidade de absoro de energia do pra-raios de grande importncia
nos sistemas de EAT e UAT. Os catlogos dos fabricantes, normalmente,
indicam a capacidade mxima de energia em kWs por kV da tenso nominal,
sendo esta capacidade funo da tenso nominal e da corrente de conduo
dos pra-raios. Geralmente, os pra-raios utilizados em sistemas de EAT tem
uma capacidade de absoro de energia na faixa de 7 a 8 kWs por kV de
tenso nominal.
2.5.3 - ASPECTOS IMPORTANTES RELACIONADOS COM
OS PRA-RAIOS
a) Operao de um pra-raios
293
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
57
Um pra-raios composto de elementos de resistores no-lineares,
conectados em srie com centelhadores (pra-raios convencionais) ou no
(pra-raios de ZnO).
Quando ocorre um surto de tenso, a corrente no pra-raios pode ser
aproximada por:
I = KV
Onde:
I - a corrente no pra-raios;
V - a tenso aplicada em seus terminais;
K - uma constante que dependente do projeto do pra-raios;
- constante compreendida entre 4 e 6 para pra-raios convencionais (SiC) e
entre 25 e 30 nos pra-raios ZnO.
Esta corrente pode alcanar vrios kA durante o surto e algumas centenas de
ampre aps a sua dissipao, devendo o pra-raios ser capaz de interromper a
corrente subsequente e permanecer sem conduzir, mesmo que submetido a
alguma sobretenso temporria, no caso de um pra-raios convencional.
Geralmente, no permitida mais que uma operao deste tipo nos pra-raios
convencionais. Nos pra-raios ZnO, a conduo permanente, sendo a
amplitude da corrente dependente da tenso aplicada a seus terminais. Quando
ocorre o surto a corrente elevada, podendo alcanar vrios kA, e, se o praraios submetido a sobretenses temporrias, a corrente de conduo alcana
centenas de ampres, havendo conduo por vrios ciclos. Em operao
normal a corrente de apenas alguns miliampres.
294
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
58
b) Tenso mxima na freqncia industrial
A tenso nominal de um pra-raios convencional deve ser igual ou superior
maior sobretenso na frequncia industrial que pode ocorrer no sistema, para
evitar que o pra raios seja submetido a disparos consecutivos e,
eventualmente, se danifique. No caso de pra-raios ZnO, devido a sua
caracterstica peculiar, estabelecido que a tenso mxima em regime
contnuo no pode ultrapassar a 80% do valor da tenso nominal do praraios.
c) Classes de um pra-raios
Normalmente, trs classes de pra-raios so utilizadas em sistemas de alta
tenso: estao, intermediria (subtransmisso) e distribuio. As diferenas
entre os trs tipos esto nos nveis de proteo, nos ensaios de durabilidade, na
existncia ou no de dispositivos de alvio de presso e nas tenses do sistema
para os quais foram projetados. Os pra-raios tipo estao cobrem todas as
classes de tenso, os do tipo intermedirio destinam-se s tenses
normalmente utilizadas no sistema de subtransmisso (<138 kV) e os do tipo
de distribuio para as tenses at 35kV.
d) caractersticas de proteo
A caracterstica de proteo dos pra-raios convencionais , usualmente,
apresentada como uma curva de tenso contra tempo para ocorrer o disparo e,
geralmente, pode ser obtida dos fabricantes. As informaes normalmente
disponveis so as seguintes: disparo para onda escarpada, disparo para onda
295
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
59
1,2x50s, disparo para ondas do tipo manobra e tenso residual para onda
8x20s, as quais, plotadas num grfico, fornecem a caracterstica de proteo
do pra-raios. A tenso residual depende da corrente de descarga, a qual
depende de uma srie de consideraes a respeito das caractersticas das
descargas atmosfricas referentes regio onde se encontra localizada a
instalao.
e) Nveis de isolamento dos equipamentos
O nvel de isolamento de um equipamento o conjunto de valores de tenses
suportveis nominais, aplicadas ao equipamento durante os ensaios e definidas
em normas especficas para esta finalidade, que define a sua caracterstica de
isolamento.
A NBR-6939 estabelece que, para os equipamentos com tenso mxima
inferior a 300 kV, o nvel de isolamento definido pelas tenses suportveis
nominais de impulso atmosfrico e frequncia industrial. Para equipamentos
com tenses igual ou superior a 300 kV, consideram-se as tenses suportveis
nominais de impulsos de manobra e atmosfrico.
Os nveis de proteo dos pra-raios devem ser selecionados, considerando-se
as suas caractersticas de proteo e os nveis de isolamento dos
equipamentos.
296
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
60
f) Localizao dos pra-raios
sempre uma prtica conveniente tentar posicionar os pra-raios to
prximos quanto possvel dos equipamentos que se pretende proteger, sendo,
geralmente, os equipamentos principais protegidos diretamente por pra-raios
conectados nos seus terminais. Em algumas situaes, a proteo de um grupo
de equipamentos pode ser efetuada por um nico pra-raios. Uma prtica
tradicional a utilizao de pra-raios nos transformadores e entradas de linha
de uma subestao.
g) Efeito distncia
Quando o pra-raios no se encontra conectado diretamente nos terminais do
equipamento a ser protegido, possvel que oscilaes provoquem tenses
superiores ao nvel de proteo do pra-raios, devido separao entre o
equipamento e o pra-raios.
h) Margens de proteo
A coordenao de isolamento efetuada considerando-se determinadas
relaes entre o nvel de isolamento dos equipamentos e o nvel de proteo
dos pra-raios. Geralmente, recomendada uma margem mnima de 15% na
regio de impulsos atmosfricos. A finalidade principal para a adoo destas
margens est relacionada com possveis deterioraes das caractersticas de
proteo dos pra-raios, devido poluio e envelhecimento, alm da
297
CAPTULO 8 EQUIPAMENTOS DE SECCIONAMENTO E PROTEO
61
amplificao da tenso, devido impossibilidade de se conectar os pra-raios
exatamente nos terminais do equipamento a ser protegido.
2.5.3 QUADRO COMPARATIVO
A ttulo de informao, mostra-se no quadro resumo 4, um estudo
comparativo de algumas caractersticas dos pra-raios exigidas pelas
principais concessionrias de energia eltrica.
Quadro Resumo 4 Estudo comparativo das exigncias das concessionrias quanto aos
pra-raios.
PRA-RAIOS
Existe ficha
tcnica?
CERJ
CPFL
CELESC
ELETROPAULO
CEMIG
CELPE
COELCE
Um conjunto de trs pra-raios para cada circuito de alimentao.
Um conjunto de trs pra-raios para cada transformador.
Um conjunto de trs pra-raios instalados entre a seccionadora de entrada
e o conjunto de medio da Concessionria.
Para efeito de oferta, considerar um conjunto (trs pra-raios) para o
transformador /transformadores.
Um conjunto de trs pra-raios instalados entre a seccionadora de entrada
e o conjunto de medio da Concessionria.
Para efeito de oferta, considerar um conjunto (trs pra-raios) para o
transformador /transformadores.
Um conjunto de trs pra-raios para cada circuito de alimentao,
localizado antes da seccionadora de entrada.
Para efeito de oferta, considerar um conjunto (trs pra-raios) para o
transformador /transformadores.
Um conjunto de trs pra-raios instalados entre a seccionadora de entrada
e o conjunto de medio da Concessionria.
Para efeito de oferta, considerar um conjunto (trs pra-raios) para o
transformador /transformadores.
Um conjunto de trs pra-raios por circuito de alimentao.
Para efeito de oferta, considerar um conjunto (trs pra-raios) para o
transformador /transformadores.
Um conjunto de trs pra-raios instalados entre a seccionadora de entrada
e o conjunto de medio da Concessionria.
Para efeito de oferta, considerar um conjunto (trs pra-raios) para o
transformador /transformadores.
No
No
No
No
No
No
Sim
298
CAPTULO 9
SELETIVIDADE
299
CAPTULO 9 SELETIVIDADE
SELETIVIDADE
1 - INTRODUO
Dentre os principais requisitos para a proteo atingir as suas finalidades, a
seletividade , sem dvida alguma, o item de maior importncia. Pois a
presena de uma anormalidade no sistema deve ser isolada e removida, sem
que as outras partes do mesmo sejam afetadas. Em outras palavras,
seletividade significa isolar, to depressa quanto possvel, a parte do sistema
afetada pela falta, e deixar todas as demais energizadas, garantindo a
confiabilidade e continuidade no sistema eltrico em questo.
Podem ser implementados vrios meios para assegurar uma boa seletividade
na proteo de uma rede eltrica, os mais conhecidos so:
Seletividade amperimtrica (atravs de correntes)
Seletividade cronomtrica (por tempo)
Seletividade atravs de troca de dados, chamada de seletividade
lgica
Seletividade pelo uso de proteo direcional ou diferencial.
2 - SELETIVIDADE AMPERIMTRICA
A seletividade amperimtrica baseia-se no fato que a corrente de falta diminui
de intensidade medida que o local do curto "se afasta" da fonte de
alimentao.
300
CAPTULO 9 SELETIVIDADE
Desta forma, utiliza-se uma proteo amperimtrica em cada ramal de
alimentao, com ajuste inferior ao valor mnimo da corrente de curto-circuito
causada por uma falta na seo vigiada, e superior ao valor mximo da
corrente causada por uma falta a jusante. Ajustado deste modo, cada
dispositivo de proteo s atua para faltas localizadas imediatamente a
jusante, e no sensvel a faltas a montante. Todavia, na prtica, quando no
h reduo notvel na corrente entre duas partes adjacentes, difcil definir os
ajustes para dois dispositivos em cascata e, ainda, assegurar uma boa
seletividade (o que acontece nas redes de mdia tenso). Porm, para sees
de linhas separadas por um transformador, este sistema pode ser usado com
grandes vantagens, por ser simples, econmico e rpido (desarme sem
demora). Algumas literaturas definem esse tipo de procedimento como sendo
uma seletividade por escalonamento das correntes de curto-circuito.
A figura 1 ilustra um exemplo tpico da instalao desses elementos
envolvendo os enrolamentos primrio e secundrio de transformadores. Neste
caso, para garantir a seletividade, o dispositivo de proteo de sobrecorrente
instalado no primrio deve respeitar a seguinte condio:
ICCA > Ir ICCB,
Onde:
Ir a corrente de ajuste;
ICCB a corrente de curto-circuito no secundrio (ponto B), referida ao primrio
do transformador.
301
CAPTULO 9 SELETIVIDADE
Figura 1 - Exemplo de seletividade amperimtrica em transformadores;
3 - SELETIVIDADE CRONOMTRICA
A seletividade cronomtrica consiste em ajustes diferentes nas temporizaes
dos dispositivos de proteo distribudos ao longo do sistema eltrico. Quanto
mais prximos da fonte supridora, as temporizaes devero ser ajustadas em
tempos superiores aos elementos de proteo a jusante, conforme pode ser
notado no diagrama unifilar indicado na figura 2.
302
CAPTULO 9 SELETIVIDADE
Figura 2 - Exemplo de seletividade cronomtrica;
A falta mostrada neste diagrama enxergada por todas as protees
(localizadas em A, B, C e D). A temporizao D fecha seus contatos mais
rapidamente que aquela instalada em C, que por sua vez, mais rpida que a
proteo em B, e assim sucessivamente. Assim que o disjuntor D aberto, e a
corrente de falta eliminada, as protees nos pontos A, B e C, que estavam
sensibilizadas, voltam a condio original (de vigilncia).
303
CAPTULO 9 SELETIVIDADE
A diferena dos tempos de atuao t entre duas protees sucessivas o
intervalo de seletividade, definido a partir da seguinte inequao:
t tc + tr + 2dt
Onde:
tc - tempo de abertura dos disjuntores;
dt - tolerncias da temporizao;
tr - tempo de retorno posio de espera das protees.
Considerando o desempenho dos disjuntores e dos rels de proteo,
normalmente encontrados na prtica, os valores adotados para o t s de
aproximadamente 0,4 s.
Esta seletividade apresenta duas vantagens, pois alm de ser um sistema
simples, assumi a sua prpria retaguarda (salvaguardando-se a parte isenta de
falta da instalao). Porm, quando h um nmero elevado de protees em
srie, observa-se que a proteo localizada mais a montante est ajustada com
um tempo de atuao elevado. Dependendo do nvel de curto-circuito e do
tempo de resposta do rel de proteo, pode-se em alguns casos, danificar os
componentes dos sistemas eltricos, tais como: cabos, TC's, etc, devido ao
aquecimento adicional a que ficam submetidos.
304
CAPTULO 9 SELETIVIDADE
3.1 - APLICAO DA SELETIVIDADE CRONOMTRICA
Existem dois tipos de rels cronomtricos temporizados:
Os rels de tempo independente Observa-se na figura 3 que se o nvel de
curto-circuito for inferior ao seu ajuste, este trabalha na regio de no
operao. Por outro lado, para valores superiores a sua faixa de ajuste, o
rel atuar sempre com um valor de tempo constante e definido.
Figura 3 - Tempo independente do valor da corrente de curto;
Os rels de tempo dependentes (tempo inverso) Analogamente ao caso
anterior, a regio de atuao depender do seu ajuste. No entanto, o tempo
de atuao no ser constante, pois conforme mostrado na figura 4, o
tempo depender do valor da corrente de curto-circuito.
305
CAPTULO 9 SELETIVIDADE
Figura 4 - Tempo dependente do valor da corrente de curto;
A ttulo de ilustrao, a figura 5 esclarece um exemplo utilizando a proteo
envolvendo tempo independente e inverso.
Figura 5 - Exemplo de aplicao cronomtrica;
306
CAPTULO 9 SELETIVIDADE
No caso particular desta figura, para assegurar a seletividade cronomtrica
entre os dispositivos de proteo, devem ser respeitado os seguintes critrios:
Rel de tempo independente: IrA > IrB > IrC,
t A > t B > tC
Figura 6 - Ajustes dos rels do tipo tempo independente;
Rel de tempo dependente ou inverso: IrA > IrB > IrC,
IccA > IccB > IccC
Figura 7 - Ajustes dos rels do tipo tempo dependente ou inverso;
307
CAPTULO 9 SELETIVIDADE
10
Os ajustes das temporizaes esto determinados para obter o intervalo de
seletividade t para a mxima corrente vista pela proteo a jusante.
As temporizaes para obter a seletividade cronomtrica ativada quando a
corrente excede o valor de ajuste dos rels. Por exemplo, na figura 5, o tempo
de atuao na proteo do disjuntor A deve ser maior que o de B, que por sua
vez, maior que C.
4 - SELETIVIDADE LGICA
Este princpio usado quando se deseja diminuir o tempo de eliminao da
falta. A troca de dados lgicos entre os dispositivos de proteo sucessivos
elimina a necessidade de intervalos de seletividade.
Com efeito, num sistema radial, so ativadas as protees localizadas a
montante do ponto de falta e aquelas localizadas a jusante no so solicitadas.
Podem ser localizados o ponto de falta e o disjuntor a ser comandado sem
qualquer ambigidade. Cada proteo sensibilizada pela falta envia:
Uma ordem lgica de espera para o nvel situado a montante (ordem
para aumentar a temporizao prpria do rel a montante);
Uma ordem de abertura para o disjuntor associado, a menos que o
mesmo receba uma ordem lgica de espera do situado a jusante. Um
desarme temporizado provido como retaguarda.
308
CAPTULO 9 SELETIVIDADE
11
A grande vantagem da seletividade lgica, quando comparado seletividade
cronomtrica, que o tempo do desarme no depende da falta na cascata da
seletividade.
A figura 8 ilustra um sistema radial, onde os rels atuam baseados no princpio
da seletividade lgica.
Figura 8 - Exemplo de aplicao da seletividade lgica;
309
CAPTULO 9 SELETIVIDADE
12
5 - SELETIVIDADE DIRECIONAL
Numa rede em anel, na qual uma falta fica alimentada de ambas as
extremidades, necessrio usar um sistema de proteo sensvel direo do
fluxo da corrente de falta, para localiz-la e elimin-la.
A figura 9 apresenta um exemplo de utilizao de protees direcionais.
Figura 9 - Exemplo de aplicao da seletividade direcional;
310
CAPTULO 9 SELETIVIDADE
13
Os disjuntores D1 e D2 esto equipados com protees direcionais
instantneas, enquanto H1 e H2 so dotados de protees de sobrecorrente
temporizadas. No caso de uma falta no ponto (1), s as protees em D1
(direcional), H1 e H2 "enxergam" a falta. A proteo em D2 no se
sensibiliza, devido a direo de seu sistema de deteco. Neste caso, D1 abre.
A proteo H2 fica de fora e H1 abre.
tH1 = tH2,
tD1 = tD2,
tH = tD + t
6 - SELETIVIDADE ATRAVS DE PROTEO DIFERENCIAL
Estas protees comparam as correntes nas extremidades do trecho de rede a
ser vigiada. Qualquer diferena em amplitude e fase entre estas correntes
indica a presena de uma falta. Este sistema de proteo reage apenas s faltas
dentro da rea monitorada e insensvel a qualquer falta fora desta rea.
portanto seletivo por natureza.
Esta proteo usada para detectar correntes de falta com valores inferiores
corrente nominal e para desarmar instantaneamente, j que a seletividade est
baseada sobre a deteco e no na temporizao.
O equipamento protegido pode ser: um motor, um gerador, um transformador,
ou uma conexo (cabo ou linha). A figura 10 ilustra a aplicao da proteo
diferencial.
311
CAPTULO 9 SELETIVIDADE
14
Figura 10 - Aplicao da seletividade diferencial;
312
CAPTULO 10
PROTEO DE TRANSFORMADORES
313
CAPTULO 10 PROTEO DE TRANSFORMADORES
PROTEO DE TRANSFORMADORES
1 - INTRODUO
O transformador, por se tratar de um importante componente, necessita de um
eficiente sistema de proteo contra todas as faltas susceptveis de danific-lo.
O grau de complexidade do sistema de proteo depende da potncia do
transformador, e est vinculado com consideraes tcnicas e custos.
2 TIPOS DE FALTAS
As principais faltas que podem afetar um transformador so: sobrecarga,
curto-circuito e faltas carcaa.
A sobrecarga pode resultar de um aumento no nmero de cargas que so
alimentadas simultaneamente ou de um aumento na potncia absorvida por
uma ou mais cargas. O resultado disso uma sobrecorrente de longa durao
que causa um aquecimento prejudicial ao isolamento e, portanto, pode afetar a
vida til do transformador.
O curto-circuito pode ocorrer no interior ou fora do transformador. As faltas
internas so aquelas que acontecem entre condutores de fases diferentes ou
entre espiras de um mesmo enrolamento. O arco proveniente de uma falta
danifica o enrolamento do transformador e pode provocar um incndio. Em
314
CAPTULO 10 PROTEO DE TRANSFORMADORES
transformadores a leo, o arco causa a emisso de gases de decomposio. Se
a falta for de pequena intensidade, h uma leve emisso de gases e mesmo
nesta situao, o acmulo pode ser perigoso. Por outro lado, um curto-circuito
violento causa estragos que podem destruir no somente a parte ativa mas
tambm o tanque, derramando leo inflamado.
As faltas externas so as que ocorrem nas conexes a jusante. A corrente de
curto-circuito produz, no transformador, esforos eletrodinmicos susceptveis
de afetar mecanicamente os enrolamentos e ento evoluir na forma de uma
falta interna.
A falta carcaa uma falta interna. Ela pode acontecer entre o enrolamento
e o tanque ou entre o enrolamento e o circuito magntico. Para um
transformador a leo, ela causa uma emisso de gs. Com o curto-circuito,
pode ocorrer a destruio do transformador e um incndio.
A amplitude da corrente de falta depende do sistema de neutro das redes a
montante e a jusante, e tambm na posio da falta dentro do enrolamento. Na
ligao estrela, a corrente para a carcaa varia entre 0 um valor mximo
dependendo da localizao da falta, do lado do neutro ou da fase da bobina,
conforme ilustrado na figura 1. Na ligao delta, a corrente para a carcaa
varia entre 50 e 100% do valor mximo, dependendo se a falta estiver no meio
ou nas extremidades dos enrolamentos.
315
CAPTULO 10 PROTEO DE TRANSFORMADORES
Figura 1 - Corrente de falta em funo da posio da falta no enrolamento.
3 DISPOSITIVOS DE PROTEO
3.1 SOBRECARGAS
A sobrecorrente de longa durao geralmente detectada por uma proteo
com tempo independente ou inverso, que seletiva com as protees
secundrias.
usada uma proteo de imagem trmica para detectar a elevao de
temperatura. Essa proteo tem por objetivo fazer com que as elevaes de
temperatura no ultrapassem os seus limites trmicos, ou seja, respeitando as
316
CAPTULO 10 PROTEO DE TRANSFORMADORES
suas classes de isolamento. Com isto, espera-se que a vida til do equipamento
fique preservada.
3.2 CURTO-CIRCUITO
Para os transformadores a leo so utilizados:
O rel Buchholz ou detector de presso e temperatura DGPT sensvel
emisso de gases e ao movimento do leo provocados por um curtocircuito entre espiras de uma mesma fase ou entre fases distintas.
A proteo diferencial, mostrada na figura 2, assegura uma proteo
rpida contra faltas fase-fase. Ela sensvel s correntes de falta da
ordem de 0,5In e usado para transformadores que alimentam cargas
essenciais.
Uma proteo de sobrecorrente instantnea associada a um disjuntor
localizado no primrio do transformador, assegura uma proteo contra
curto-circuitos violentos. O limiar da corrente primria est ajustado
num valor mais alto que a corrente devido a um curto-circuito no
secundrio, assegurando assim a seletividade amperimtrica.
Um fusvel AT pode ser usado para proteo de sobrecorrente de
transformadores de baixa potncia.
317
CAPTULO 10 PROTEO DE TRANSFORMADORES
Figura 2 - Proteo diferencial.
Figura 3 - Proteo de sobrecorrente associado ao disjuntor
localizado no primrio.
318
CAPTULO 10 PROTEO DE TRANSFORMADORES
3.3 FALTAS CARCAA
Carcaa do tanque A proteo de sobrecorrente instantnea instalada na
conexo de aterramento do tanque do transformador (desde que seu ajuste
esteja compatvel com o sistema de neutro utilizado) constitui uma soluo
simples e eficiente para proteger contra faltas internas e carcaa, isso obriga
a isolar o tanque do transformador do solo, conforme detalha a figura 4.
(a)
(b)
Figura 4 - Proteo de sobrecorrente contra faltas carcaa.
Uma outra soluo consiste em assegurar uma proteo contra as faltas terra:
Atravs da proteo de terra, localizada na rede a montante, para faltas
na carcaa que afetam o primrio do transformador, conforme figura
4(b).
Pela proteo homopolar instalada na entrada do painel alimentado, se o
aterramento do neutro da rede a jusante estiver localizado no
barramento. Estas protees so seletivas, e s so sensveis as faltas
fase-terra localizadas no transformador ou nas conexes a montante e a
jusante.
319
CAPTULO 10 PROTEO DE TRANSFORMADORES
Por uma proteo de terra restrita, se o aterramento do neutro da rede a
jusante for instalado no transformador. Trata-se de uma proteo
diferencial de alta impedncia que detecta a diferena entre as correntes
homopolares medidas no ponto de aterramento do neutro e a soma vetorial
das correntes localizadas nas sadas trifsicas do transformador, conforme
esquematizado na figura 5.
Figura 5 - Proteo diferencial contra faltas carcaa.
3.4 EXEMPLOS DE PROTEO DE TRANSFORMADORES
A ttulo de ilustrao, mostra-se nas figuras 6 e 7, respectivamente, atravs de
dois diagramas unifilares, um exemplo de vrios equipamentos utilizados na
proteo de transformadores MT/BT e MT/MT. Desta forma, oferecendo
320
CAPTULO 10 PROTEO DE TRANSFORMADORES
resumidamente, uma viso global sobre os assuntos expostos nos itens
anteriores.
Figura 6 - Exemplos de proteo de transformadores.
Onde os nmeros identificados no diagrama unifilar 6, correspondem:
(1) Fusvel ou rel de sobrecorrente com dois ajustes
(2) Sobrecorrente homopolar
(3) Buchholz ou DGPT
(4) Proteo de sobrecorrente para faltas `a carcaa
(5) Disjuntor BT
321
CAPTULO 10 PROTEO DE TRANSFORMADORES
10
Figura 7 - Exemplos de proteo de transformadores.
Onde os nmeros identificados no diagrama unifilar 7, correspondem:
(1) Imagem trmica
(2) Sobrecorrente com dois ajustes
(3) Sobrecorrente homopolar
(4) Buchholz ou DGPT
(5) Proteo de sobrecorrente para faltas `a carcaa
(6) Proteo de terra restrita
(7) Proteo diferencial para transformador
322
CAPTULO 10 PROTEO DE TRANSFORMADORES
11
3.5 RECOMENDAES SOBRE OS AJUSTES DAS PROTEES
A tabela 1 ilustra um resumo sobre os ajustes dos dispositivos de proteo em
funo do tipo de falta.
Tipos de falta
Sobrecarga
Curto-circuito
Ajustes
Disjuntor BT: In
Imagem trmica: In (corrente nominal)
Fusvel: I > 1,3In
Sobrecorrente com tempo independente ajuste inferior < 6In com
temporizao de 0,3 s (seletivo com a jusante),
ajuste superior > Icc a jusante, instantneo.
Sobrecorrente com tempo dependente
Ajuste inferior de tempo inverso (seletivo com a jusante), ajuste superior >
Icc a jusante, instantneo.
Diferencial para transformador, 25% a 50% de In.
Carcaa terra:
Ajuste da proteo > 20A com temporizao de 100ms.
Falta terra
Sobrecorrente homopolar:
Ajuste de 20% da sobrecorrente de falta terra e 6% da relao nominal dos
TC's ,se alimentado por 3 TC's independentes. A temporizao de 0,1s se o
aterramento for feito no sistema. Por outro lado, se o aterramento for
localizado no transformador, a temporizao ser de acordo com seletividade.
Proteo de falta terra restrita:
Ajuste da ordem de 20% da sobrecorrente de falta `a terra, se utilizado um
nico TC toroidal englobando as 3 fases.
Ajuste da ordem de 10% de In, se empregado o sistema somador com 3 TC's
indepedentes.
323
CAPTULO 11
PROTEO DE GERADORES
324
CAPTULO 11 PROTEO DE GERADORES
PROTEO DE GERADORES
1 - INTRODUO
Este captulo abordar os esquemas de proteo associados aos geradores. O
alternador, de uma maneira geral, deve ser protegido contra as faltas internas e
externas. Na ocorrncia de uma falta interna, como por exemplo um curtocircuito entre espiras no enrolamento do estator, o sistema de proteo dever
efetuar, o mais rpido possvel, o desligamento da mquina. Desta forma, os
distrbios provocados no sistema eltrico e os danos causados ao gerador so
minimizados.
2 TIPOS DE FALTAS
Os geradores, assim como os motores, tm o seu comportamento eltrico e
trmico afetados pela operao em condies anormais. Esta anormalidade
pode estar vinculada a vrios fatores, dentre os quais pode-se citar:
sobrecargas, desequilbrio e faltas internas entre fases. Todavia, alguns desses
assuntos j foram abordados no captulo anterior, e portanto, no sero
descritos novamente. Complementando estes estudos, passa-se a analisar
outros distrbios que no foram contemplados quando da realizao da anlise
da proteo em transformadores.
325
CAPTULO 11 PROTEO DE GERADORES
Curto-circuito externo entre fases Quando numa rede, o curto-circuito
acontecer nas proximidades de um gerador, a corrente de falta tem o
comportamento mostrado na figura 1.
Figura 1 - Comportamento da corrente na armadura do gerador
sob condies de curto-circuito.
Observa-se na figura 1, que a corrente decresce ao longo do tempo. Define-se
trs perodos caracterstico que definem com maior preciso os valores das
correntes nas faltas externas. No perodo subtransitrio a corrente de curto
calculado tomando-se como base a reatncia subtransitria Xd. No perodo
transitrio a corrente deve ser calculado atravs da impedncia transitria, Xd.
Para a corrente de curto-circuito em regime permanente, a impedncia a ser
considerada dever ser a sncrona Xd.
Falta interna de fase para carcaa Este tipo de falta semelhante ao j
visto em transformadores e seus efeitos dependem do sistema de aterramento
adotado para o neutro. O regime de aterramento do neutro pode ser diferente,
326
CAPTULO 11 PROTEO DE GERADORES
dependendo se o gerador estiver conectado ou no na rede. Assim sendo, os
dispositivos de proteo devem ser adaptados a ambos os casos.
Perda de excitao Quando um gerador perde a sua excitao, a sua
operao passa a ser dessincronizada com a rede. Portanto, a mquina operar
no modo assncrono, com ligeira sobrevelocidade, e absorve potncia reativa.
Como conseqncia, ocorre um sobreaquecimento no estator, pois a corrente
reativa pode ser elevada. As correntes induzidas provocam um elevao de
temperatura no rotor, uma vez que o mesmo no foi dimensionado para tais
correntes.
Operao como motor Quando um gerador estiver sendo alimentado como
um motor pela rede eltrica, ele fornece um energia mecnica no eixo, isto
pode causar desgastes e danos mquina primria (motriz).
Variao de tenso e freqncia Variaes de tenso e freqncia durante o
regime permanente so atribudos ao mau funcionamento dos reguladores de
velocidade e de tenso. Essas variaes acarretam uma srie de problemas,
dentre os quais pode-se citar:
Freqncias acima de seu valor nominal causam um aquecimento
anormal nos motores;
Freqncias abaixo de seu valor nominal provocam reduo de potncia
nos motores;
Variaes de freqncia acarretam variaes de velocidade nos
motores, que podem causar danos mecnicos;
327
CAPTULO 11 PROTEO DE GERADORES
Sobretenses exigem uma maior solicitao nos isolamentos em todos
os componentes da rede, quando comparados com a tenso nominal;
Subtenses provocam reduo no torque, consequentemente h aumento
da corrente e aquecimento adicional nos motores.
3 DISPOSITIVOS DE PROTEO
Sobrecarga Os dispositivos de proteo de sobrecarga para geradores so
idnticos aos dos motores, ou seja, sobrecorrente com tempo dependente,
imagem ou sonda trmica.
Desequilbrio Neste caso, a proteo semelhante aquela aplicada em
motores. Os dispositivos de proteo detectam o desequilbrio atravs da
componente de seqncia negativa, com curvas de temporizao do tipo
dependente ou independente.
Curto-circuito externo entre fases Como o valor da corrente de curtocircuito decresce em funo do tempo, uma simples deteco desta corrente
pode ser insuficiente. Portanto, para que este tipo de falta seja detectada de
maneira eficiente, deve-se utilizar a proteo de sobrecorrente com reteno
de tenso. O ajuste de corrente do referido dispositivo obedece a relao entre
tenso e corrente ilustrada na figura 2. A atuao temporizada.
328
CAPTULO 11 PROTEO DE GERADORES
Figura 2 - Comportamento da corrente de ajuste Ir em funo da tenso.
Curto-circuito interno entre fases Para este tipo de falta, a proteo
diferencial de alta impedncia uma soluo rpida e sensvel. Em certos
casos, especialmente para um gerador de pequeno porte, a proteo contra um
curto-circuito interno entre fases pode ser realizada da seguinte maneira:
Uma proteo de sobrecorrente instantnea (A), habilitada somente
quando o disjuntor do gerador estiver aberto, com sensor de corrente
localizado no lado do ponto neutro, com ajuste inferior a corrente
nominal,
Uma proteo de sobrecorrente instantnea (B), com sensores de
corrente localizados no lado do disjuntor, com um ajuste superior a
corrente nominal do gerador.
A figura 3 ilustra na forma de um diagrama unifilar o exposto acima.
329
CAPTULO 11 PROTEO DE GERADORES
Figura 3 - Proteo de gerador contra curto-circuito interno entre fases.
Falta carcaa do estator Se o neutro da rede for aterrado no ponto neutro
do gerador, a proteo de falta terra restrita usada. No entanto, se o neutro
do gerador for aterrado em um ponto diferente do neutro da rede, as faltas
carcaa do estator so detectadas por:
Uma proteo de sobrecorrente homopolar no disjuntor do gerador,
quando o mesmo estiver conectado a rede,
Um dispositivo de monitorao da isolao para sistemas de neutro
isolado, quando o gerador estiver desligado da rede.
Se o neutro for flutuante, a proteo contra faltas estrutura assegurada por
um dispositivo que monitora a isolao. Este dispositivo opera detectando a
tenso homopolar ou injetando uma corrente contnua entre o neutro e a terra.
330
CAPTULO 11 PROTEO DE GERADORES
Falta carcaa do rotor Quando o circuito de excitao for acessvel, as
faltas massa so monitoradas por um medidor permanente de isolao.
Perda de excitao Este tipo de falta detectada medindo a potncia reativa
absorvida ou monitorando o circuito de excitao (se acessvel), ou ento
medindo a impedncia nos terminais da mquina.
Funcionamento como motor detectado por um rel sensvel ao retorno
de potncia ativa absorvida pelo gerador.
Variaes de tenso e freqncia So monitoradas, respectivamente, por
uma proteo de sobretenso e subtenso e uma proteo de sobrefreqncia e
subfrequncias. Estes dispositivos de proteo so temporizados, pois estes
fenmenos no necessitam de uma ao instantnea. Na maioria das vezes, os
reguladores de tenso e velocidade, por si s reagem, e retornam o sistema na
sua condio normal.
4 EXEMPLOS DE APLICAO
As figuras 4, 5 e 6 exemplificam as principais protees utilizadas nos
geradores de pequeno e mdio porte.
331
CAPTULO 11 PROTEO DE GERADORES
Figura 4 - Protees para geradores de pequeno porte.
Figura 5 - Protees para geradores de mdio porte.
332
CAPTULO 11 PROTEO DE GERADORES
10
Figura 6 - Protees para bloco gerador de mdio porte.
5 RECOMENDAES PARA OS AJUSTES DAS PROTEES
A tabela 1 fornece as recomendaes necessrias para os ajustes das protees
dos geradores em funo das anormalidades impostas ao mesmo.
333
CAPTULO 11 PROTEO DE GERADORES
11
Tabela 1 - Recomendaes para os ajustes das protees dos geradores
Tipos de falta
Sobrecarga
Desequilbrio
Ajustes
Imagem trmica os parmetros devem ser adaptados s
caractersticas nominais do gerador.
Mximo permissvel para a corrente de seqncia negativa. Na
falta de dados, o ajuste dever ser de aproximadamente 15% de
In, com tempo inverso.
Curto-circuito
externo
Sobrecorrente com reteno de tenso, ajuste entre 1,2 a 2 In,
temporizao de acordo com a seletividade.
Curto-circuito
interno
Proteo diferencial de alta impedncia, ajuste em
aproximadamente 10% de In.
Fuga carcaa
Neutro do gerador e da rede aterrados em pontos distintos:
sobrecorrente homopolar, ajuste entre 10 e 20% da mxima
corrente de falta terra, temporizao de aproximadamente 0,1
s ou instantnea.
Neutro aterrado no ponto neutro do gerador: proteo de terra
restrita, caso no haja proteo diferencial de alta impedncia.
Perda de excitao
Retorno de potncia reativa, ajuste em 40% de Qn,
temporizao de alguns segundos.
Operao como
motor
Proteo direcional de potncia ativa, ajuste entre 5 e 20% de
Pn, temporizao maior ou igual a 1 s.
Variao de tenso
Se a tenso no estiver compreendida entre 0,8Un < U < 1,1Un,
a temporizao deve ser ajustada em aproximadamente 1 s.
Variao de
velocidade
Se a freqncia no estiver compreendida entre 0,95fn < f <
1,05fn, a temporizao deve ser ajustada em alguns segundos.
A ttulo de ilustrao mostra-se na figura 7, um exemplo mais completo dos
possveis dispositivos de proteo normalmente utilizados para a proteo de
geradores.
334
CAPTULO 11 PROTEO DE GERADORES
12
25
51
67
27
87G
67N
59
E
59N
81
49T
64F
46
49
51
32P
32Q
51 V
Protees mecnicas do gerador
49T
Ponto estrela do gerador
49T
64F
51G
- Temperatura do estator (para gerador
acima de 2 MVA)
- Temperatura dos rolamentos (para
geradores acima de 8 MVA)
- Proteo de terra do rotor
Protees conectadas aos TCs de linha
(para operao em paralelo)
Resistor de aterramento
67
67N
- Sobrecorrente direcional (no
aplicvel se a funo 87G for usada)
- Falta direcional a terra
Protees conectadas aos TCs do
neutro do gerador
Protees conectadas aos TPs
25
27
59
59N
81
- Verificao de Sincronismo (para
operao em paralelo)
- Subtenso
- Sobretenso
- Sobretenso de neutro
- Sobre e subfrequncias
32P
32Q
46
49
51
51G
51V
87G
- Potncia ativa reversa
- Potncia reativa reversa
- Seqncia negativa
- Imagem trmica
- Sobrecorrente
- Falta a terra
- Sobrecorrente de tenso restrita
- Proteo diferencial
Figura 7 Protees recomendadas aos geradores.
335
CAPTULO 11 PROTEO DE GERADORES
13
A tabela 2 mostra os ajustes para cada funo de proteo, e qual a ao a ser
tomada. Estas informaes devem ser verificadas com o fabricante do gerador
para cada aplicao especfica.
Tabela 2 Ajustes recomendados para reles e suas aes.
Funo
27
32P
32Q
46
Ajustes tpicos
0,75 Un, T3s, T deve ser o maior valor entre 51, 51V e 67
1-5% para turbina, 5-20% para diesel , T = 2s
0,3 Sn, T=2s
0,15 In, curva de tempo inverso
80% da capacidade trmica = alarme
120% da capacidade trmica = desliga
49
Tempo constante de operao de 20 minutos
Tempo constante de parada de 40 minutos
51
1,5 In, T=2s
51G
10 A, T=1s
51V
1,5 In, T=2,5s
59
1,1 Un, T=2s
Sobrefrequencia: 1,05 Fn, T=2s
81
Subfrequncias: 0,95 Fn, T=2s
87G
5% In
67
In, T=0,5s
67N
Is0 10% da corrente de falta a terra, T=0,5s
Freqncia < 1Hz, tenso <5%, ngulo de fase <10o
25
(condies para realizar o paralelismo)
49T
120oC
64F
10 A, T=0,1s
Proteo mecnica
Ao
Desligamento
Desligamento
Desligamento
Desligamento
Alarme, sobrecarga pode ser temporria
Desligamento
Desligamento
Desligamento
Desligamento
Desligamento
Desligamento
Desligamento
Desligamento
Inibe o fechamento durante a
sincronizao.
Alarme, sobrecarga pode ser temporria.
Desligamento
Desligamento sem bloqueio
336
CAPTULO 12
NOES SOBRE SISTEMAS AUXILIARES
UTILIZADOS NAS SUBESTAES
337
CAPTULO 12
NOES SOBRE SISTEMAS AUXILIARES UTILIZADOS NAS
SUBESTAES
NOES SOBRE SISTEMAS AUXILIARES
UTILIZADOS NAS SUBESTAES
1 INTRODUO
Ao analisar as fontes de alimentao de servios auxiliares em corrente
alternada e corrente contnua para uma subestao, deve-se levar em
considerao a complexidade do sistema de servios auxiliares. Isto se
justifica, pois os servios auxiliares crescem em proporo com subestao de
maior porte, ou ento onde as cargas a serem alimentadas tenham que ter uma
alimentao de alta confiabilidade, como so os casos de algumas indstrias
de processo contnuo, hospitais e centros de computao, etc.
Desta forma, h uma necessidade de mensurar com a devida ateno o sistema
a que estamos propondo alimentar para no incorrer em erros de avaliao
que possam levar a projetar sistemas de controle e superviso complexos sem
um alto grau de confiabilidade das fontes que iro alimentar os prprios
controles.
2 DESCRIO DOS TIPOS DE FONTES
2.1 FONTES DE SERVIOS AUXILIARES EM CORRENTE
ALTERNADA
Estas fontes podem ser divididas em dois grupos:
338
CAPTULO 12
NOES SOBRE SISTEMAS AUXILIARES UTILIZADOS NAS
SUBESTAES
fontes normais
fontes de emergncia.
Em uma subestao as fontes normais seriam:
Alimentador externo em 13,2 kV (exclusivo)
Enrolamento auxiliar de transformador de aterramento
Transformador de servios auxiliares 88/138 kV 13,8 kV
Enrolamento tercirio de banco de transformadores
As fontes de emergncia em subestaes so normalmente conseguidas
atravs da utilizao de grupos geradores diesel.
2.2 FONTES
DE SERVIOS AUXILIARES
EM CORRENTE
CONTNUA
Estas fontes podem ser divididas em dois grupos:
- Carregadores retificadores
- Baterias
Em condies normais os carregadores-retificadores alimentam as cargas e
mantm as baterias em flutuao.
Por qualquer motivo, houver a perda dos carregadores-retificadores, as
baterias devem ter condio de alimentar as cargas por um perodo de no
mnimo 4 horas, obedecendo a um determinado ciclo de descarga.
339
CAPTULO 12
NOES SOBRE SISTEMAS AUXILIARES UTILIZADOS NAS
SUBESTAES
3 TIPOS DE ESQUEMAS DE MANOBRA
Sabe-se que o tipo de esquema de manobra dos servios auxiliares,
depender da complexidade e do tamanho da subestao.
Sendo assim, pode-se ter vrios esquemas de manobra, dos quais
apresenta-se, ttulo de ilustrao, alguns tipos normalmente encontrados.
3.1 ESQUEMAS DE MANOBRA PARA SERVIOS AUXILIARES
EM CORRENTE ALTERNADA
a) Subestaes em nveis de 88 13,2 kV
A figura 1, mostra um diagrama unifilar tpico de uma subestao de
88/13,2kV, onde destaca-se o seu sistema auxiliar representado por um
transformador com relao de transformao de 13,2/0,22kV.
Barras 88 KV
52
52
Cubculo blindado
13,2 KV
52
52
TR1
88/13,2 KV
TR2
88/13,2 KV
52
52
52
52
FU
TR SA
13,2/0,22 KV
A01
A05
A12
S.A.
Figura 1 Diagrama unifilar de uma SE de 88/13,2kV;
340
CAPTULO 12
NOES SOBRE SISTEMAS AUXILIARES UTILIZADOS NAS
SUBESTAES
Observa-se no diagrama unifilar da figura 1, que a fonte C.A. dos
servios auxiliares um nico transformador 13,2/0,22 kV (ou 13,2/0,44 kV)
ligado diretamente barra de 13,2 kV. No caso de um defeito, ou mesmo a
necessidade de uma manuteno no transformador, a subestao ficar sem
servio auxiliar, uma vez que neste tipo de subestao no h fonte de
emergncia (grupo diesel gerador).
b) Subestaes em nveis de 230-88 kV
A figura 2, mostra um diagrama unifilar tpico de uma subestao de
230/88kV, onde destaca-se o sistema auxiliar representado por duas fontes
auxiliares designadas por fontes 1 e 2. Estas fontes podem ser externas ou
utilizar um enrolamento auxiliar de um transformador de aterramento.
FONTE 1
TR 1
13,2/0,22 KV
ou
13,2/0,44 KV
FONTE 2
TR 2
13,2/0,22 KV
ou
13,2/0,44 KV
Chave Inversora
Manual
Quadro de Servios
Auxiliares
Figura 2 diagrama unifilar de um sistema auxiliar de uma SE 230/88kV.
341
CAPTULO 12
NOES SOBRE SISTEMAS AUXILIARES UTILIZADOS NAS
SUBESTAES
Mostra-se na figura 2, duas fontes C.A. dos servios auxiliares, permitindo
uma maior confiabilidade. Desta forma ao ocorrer uma falta, ou mesmo
necessitar de realizar manuteno em um dos transformadores, inverte-se as
alimentaes das fontes atravs de uma chave inversora manual.
c) Subestaes em nveis de 345-88 kV
A figura 3, mostra um diagrama unifilar tpico de uma subestao de
345/88kV, onde destaca-se o sistema auxiliar representado por trs fontes
auxiliares normais designadas por fontes 1,2e 3. Alm destas, apresenta-se
tambm uma de emergncia.
342
CAPTULO 12
NOES SOBRE SISTEMAS AUXILIARES UTILIZADOS NAS
SUBESTAES
cargas no
essenciais
Enrol. Auxil.
TR. Terra 2
Enrol. Auxil.
TR. Terra 1
Ramal
Externo
Cubculo
15 KV
Cubculo
15 KV
Cubculo
15 KV
TR 1
13,2/0,22 KV
TR 2
13,2/0,22 KV
TR 3
13,2/0,22 KV
cargas
essenciais
C
E
Quadro
Principal
cargas no
essenciais
Figura 3 _ diagrama unifilar do sistema auxiliar da SE de 345/88kV
Com base na figura 3, percebe-se que em condies normais de
operao cada transformador alimenta uma das barras do quadro principal.
Cada transformador projetado para alimentar o conjunto das cargas
343
CAPTULO 12
NOES SOBRE SISTEMAS AUXILIARES UTILIZADOS NAS
SUBESTAES
essenciais. Na falta de um, os dois restantes so comutados e garantem a
alimentao das cargas descrita acima.
Na falta dos trs sistemas auxiliares, deve-se entrar em operao o
grupo gerador diesel, atravs de uma comutao manual de forma que o
gerador alimente somente as cargas essenciais ( aquelas que no podem ficar
desligadas a no ser por perodos muito curtos de tempo para no acarretarem
prejuzos operacionais subestao).
d) Para Centrais Eltricas
Pode-se utilizar o mesmo esquema estudado anteriormente, somente levandose em considerao que no lugar de um nico grupo diesel gerador tem-se
vrios grupos geradores diesel em paralelo.
e) Subestaes em nveis 460-138 kV
A figura 4, mostra um diagrama unifilar tpico de uma subestao de
460/138kV, onde destaca-se o sistema auxiliar representado por duas fontes
auxiliares normais designadas por fontes 1e 2. Alm destas, apresenta-se
tambm duas de emergncia.
344
CAPTULO 12
NOES SOBRE SISTEMAS AUXILIARES UTILIZADOS NAS
SUBESTAES
Cubculo Fechamento
Delta
TR 5A
138/13,8 KV
Cubculo
15 KV
Cubculo
15 KV
TR 1
13,8/0,44 KV
TR 2
13,8/0,44 KV
Intertravamento Eltrico
cargas no
essenciais
cargas essenciais
cargas no
essenciais
Quadro de
Distribuio
Principal
figura 4 diagrama unifilar do sistema auxiliar da SE 460/138kV.
Com base na figura 4, em condies normais de operao cada
transformador alimenta metade das cargas. Na falta de um deles realizada a
345
CAPTULO 12
NOES SOBRE SISTEMAS AUXILIARES UTILIZADOS NAS 10
SUBESTAES
comutao automtica entre os disjuntores A, B e C, de forma que o
outro transformador alimente a totalidade das cargas.
Na falta de ambas as fontes normais, entrar em operao o grupo
gerador diesel, de forma que cada grupo auxiliar alimente metade das cargas
essenciais ficando as cargas no essenciais fora de servio.
3.2 ESQUEMAS DE MANOBRA PARA SERVIOS AUXILIARES
EM CORRENTE CONTNUA
a) Subestaes
A figura 5, mostra um diagrama unifilar tpico de uma subestao, onde
destaca-se o
sistema auxiliar representado por duas fontes auxiliares de
corrente contnua, sendo um carregador retificador e uma bateria.
CARREGADOR
RETIFICADOR
BATERIA
Quadro de
Distribuio
125 Vcc
figura 5- diagrama unifilar de um sistema auxiliar em corrente contnua
346
NOES SOBRE SISTEMAS AUXILIARES UTILIZADOS NAS 11
CAPTULO 12
SUBESTAES
Mostra-se na figura 5 que, a alimentao das cargas realizado pelo
carregador. Nas situaes de defeito,ou manuteno do retificador, o sistema
de bateria assumi a alimentao de todas as cargas.
Em condies normais de operao, carregador alimenta as cargas e mantm a
bateria em regime de flutuao.
b) Centrais Eltricas/Subestaes de grande porte
A figura 6, mostra um diagrama unifilar tpico de uma subestao, onde
destaca-se o
sistema auxiliar representado por duas fontes auxiliares de
corrente contnua, sendo dois carregadores retificadores e duas baterias.
Conforme ilustra o diagrama unifilar da figura 6, na ausncia de um conjunto
carregador e bateria haver uma comutao manual ou automtica dos
disjuntores A, B e C de forma que o outro conjunto supra as cargas de
ambas as barras.
Em condies normais de operao, cada carregador pode alimentar as cargas
da barra a ele associado com a recarga da bateria sendo feita por ele ou no.
347
NOES SOBRE SISTEMAS AUXILIARES UTILIZADOS NAS 12
CAPTULO 12
SUBESTAES
CARREGADOR
RETIFICADOR 1
CARREGADOR
RETIFICADOR 2
BATERIA 1
BATERIA 2
Intertravamento Eltrico
A
Normal
B
Segurana
125 Vcc
figura 6 diagrama auxiliar de uma SE de grande porte/central eltrica;
4 DIMENSIONAMENTO DAS FONTES C.A.
4.1 DIMENSIONAMENTO DOS TRANSFORMADORES 13,2 / 0,22
KV ou 13,2 / 0,44 KV.
Conforme apresentado anteriormente, cada transformador deve ser capaz de
alimentar todas as cargas da subestao. Nesta deve-se dividir as cargas em
dois tipos:
CARGAS ESSENCIAIS: So aquelas que no podem ficar desligadas
a no ser por curtos perodos de tempo, para evitar prejuzos operacionais
subestao.So normalmente as seguintes:
348
CAPTULO 12
NOES SOBRE SISTEMAS AUXILIARES UTILIZADOS NAS 13
SUBESTAES
- Refrigerao dos transformadores
- Carregadores retificadores
- Iluminao parcial e tomadas das edificaes
- Servios auxiliares dos grupos geradores Diesel
- Iluminao externa suplementar
- Controle dos comutadores sob carga
- Motores de disjuntores e seccionadores
- Sistemas supervisivos.
CARGAS NO ESSENCIAIS: So aquelas que podem ficar desligadas
por perodos mais longos de tempo sem causar prejuzos operacionais
subestao. So normalmente as seguintes:
- Ar condicionado
- Iluminao complementar das edificaes
- Iluminao e aquecimento dos quadros e caixas dos equipamentos
- Iluminao externa normal
- Tomadas externas
- Iluminao de reas administrativas
- Tratamento de leo
- gua potvel
Para a especificao dos transformadores deve-se levantar os valores nominais
das cargas descritas acima. A partir dos dados nominais dos equipamentos,
aplica-se os fatores de demanda normalmente considerados, de acordo com a
tabela 1.
349
CAPTULO 12
NOES SOBRE SISTEMAS AUXILIARES UTILIZADOS NAS 14
SUBESTAES
Tabela 1 Valores do fator de demanda em funo das cargas
Refrigerao
100%
Ar condicionado
100%
Iluminao
100%
Tomadas
20%
Carregadores-retificadores
50%
Controle de comutador
100%
Motor disjuntor e seccionador
20%
Servios auxiliar grupo diesel
l80%
Deve-se realizar a somatria das cargas acima descrita com seus respectivos
fatores de demanda. Este fator definido como sendo a relao entre a
demanda mxima e a carga instalada. Enquanto que, o fator de diversidade
entre as cargas definido pela relao entre a somatria das demandas
mximas individuais e a demanda mxima do conjunto.
Para subestaes do tipo ETT, pode-se considerar como demanda mxima do
conjunto a somatria das demandas mximas de refrigerao de 50% dos
bancos de transformadores, de 100% da iluminao, ar condicionado e
carregadores, com 50% das demandas mximas de refrigerao de 50% dos
bancos de transformadores, tomadas, controle de comutador, motor de
disjuntores e seccionadores e servios auxiliares do grupo gerador-diesel .
350
CAPTULO 12
NOES SOBRE SISTEMAS AUXILIARES UTILIZADOS NAS 15
SUBESTAES
4.2 DIMENSIONAMENTO DOS GRUPOS GERADORES DIESEL
O(s) grupo(s) diesel gerador(es) devem alimentar apenas as cargas essenciais.
Sendo assim, deve-se fazer a somatria das cargas essenciais j aplicadas
sobre as mesmas os fatores de demanda descritos no item 4.1, e sobre esta
somatria, aplica-se o fator de diversidade. Nesta situao, chega-se ao valor
da potncia do(s) grupo(s) geradores diesel.
Para determinar o fator de diversidade para subestaes do tipo ETT,
considera-se como demanda mxima do conjunto a somatria das demandas
mximas de refrigerao de 50% dos bancos de transformadores, de 100% da
iluminao parcial e carregadores, com 50% das demandas mximas de
refrigerao dos bancos de transformadores, controle de comutador, motor de
disjuntores e seccionadores e servios auxiliares do grupo diesel .
5 - DIMENSIONAMENTO DE FONTES C.C.
5.1 DEFINIES E CONCEITOS BSICOS
5.1.1 ACUMULADORES ELTRICOS
a) Definies
o dispositivo capaz de transformar energia qumica em energia eltrica e
vice-versa, em reaes quase completamente reversveis, destinado a
351
CAPTULO 12
NOES SOBRE SISTEMAS AUXILIARES UTILIZADOS NAS 16
SUBESTAES
armazenar sob forma de energia qumica, a energia eltrica que lhe tenha sido
fornecida e restitu-la em condies determinadas.
So classificados em dois tipos:
Alcalinos (Ni Cd, tipo bolsa)
Chumbo- cidos
Os tipos chumbo- cidos, divide-se em:
- Placas positivas e negativas empastadas com grades de chumboantimnio ou chumbo-clcio;
- Placas positivas plant (rosetas) e por placas negativas do tipo Box;
- Placas positivas tubulares com grades Pb-Sb e Pb-Ag e placas
negativas empastadas.
b) Comparao Alcalina x Chumbo- cida
As baterias do tipo alcalina apresentam melhor desempenho tcnico nas
seguintes condies:
Auto descarga;
No h formao de gases corrosivos;
Facilidade de armazenamento;
Resistncia mecnica;
Menor possibilidade de ocorrncia de curtos internos;
Maior vida til;
Menor peso e volume;
Menor custo de manuteno em Hh.
352
CAPTULO 12
NOES SOBRE SISTEMAS AUXILIARES UTILIZADOS NAS 17
SUBESTAES
As baterias do tipo chumbo-cido apresentam melhor desempenho tcnico nas
seguintes condies:
Verificao do estado da carga (proporcional densidade do
eletrlito.
Para
alcalinas
densidade
aproximadamente
constante.);
Menor influncia da alta temperatura;
Menor necessidade de troca do eletrlito (nas alcalinas o hidrxido
empregado no estvel e reage com o ar absorvendo CO2
formando carbonato de potssio.);
Maior capacidade para atender o mesmo ciclo de descarga;
Maior nmero de fornecedores.
As baterias alcalinas resultam em uma capacidade menor (at 50%), que
as chumbo- cidos desde que ocorram picos elevados durante o ciclo de
descarga, mas mesmo assim o seu custo 30% maior.
c) Caractersticas Principais
Tenso de flutuao (Vf1): a tenso utilizada no processo de carga
pela qual so compensadas as perdas por auto-descarga de um
acumulador, no estado de plena carga.
Tenso Final de Descarga (Vfn): a tenso mnima na qual o
consumidor pode operar.
Tenso de Equalizao (Veq):
a tenso mnima utilizada no
processo de carregar uma bateria com uma tenso elevada.
353
CAPTULO 12
NOES SOBRE SISTEMAS AUXILIARES UTILIZADOS NAS 18
SUBESTAES
Tenso de Carga Profunda (Vcp): nesta situao poder ser notada
uma intensa gaseificao. S deve ser usada em caso de emergncia.
Quanto menor a tenso de flutuao, maior ser a vida da bateria, maior o
tempo de carga e maior a possibilidade de no se manter com 100% de carga.
Para baterias alcalinas a tenso de flutuao varia entre os seguintes valores
(Vf1 = 1,38 a 1,12 V/elemento).Enquanto que para baterias chumbo- cidos os
valores esto compreendidos entre Vf1 = 2,15 a 2,2 V/elemento.
d) Valores Caractersticos de Fabricantes (por elemento)
A tabela 2, a ttulo de ilustrao, mostra uma comparao entre as tenses de
operao das baterias de diversos fabricantes. Adicionalmente tambm
realizada uma comparao com a norma do GCOI.
Tabela 2- Tenses de operao de baterias de vrios fabricantes
TENSES DE
NIFE
EXIDE
C&D
GCOI
OPERAES
2,15 2,22
2,15 2,18
2,20 2,25
Rec. 2,20
Rec. 2,18
Rec. 2,20
1,75
1,75
1,75
2,35 2,40
2,20 2,45
2,33 2,40
Rec. 2,40
Rec. 2,33
Rec. 2,33
2,60 2,70
Vf1
Vfn
Veq
Vcp
2,15 2,22
1,75 1,82
2,30 2,45
2,60 a 2,75
354
CAPTULO 12
NOES SOBRE SISTEMAS AUXILIARES UTILIZADOS NAS 19
SUBESTAES
e) Nmero de Elementos
Para a escolha do nmero de elementos que iro compor a bateria necessrio
que se defina as tenses mxima e mnima de funcionamento dos
equipamentos que o sistema ir alimentar.
A tenso mnima a ser considerada no clculo do nmero de elementos de
uma bateria dever ser superior mnima permitida pelos equipamentos. Tal
justificativa deve-se queda de tenso introduzida pelos cabos que
interligaro a bateria aos mesmos.
O nmero de elementos de uma bateria definido atravs das seguintes
relaes:
V
n1 = mx
Veq
n2 =
Vmn
Vfn
n3 =
Vn
Vf 1
Onde:
Vmx = Tenso mxima admitida pelos equipamentos;
Vmn = Tenso mnima admitida pelos equipamentos.
Quando n1 = n2 = n3 , a soluo encontrada a ideal, com o aproveitamento
mximo da bateria.
Normalmente o que ocorre encontrarmos valores diferenciados para n.
355
CAPTULO 12
NOES SOBRE SISTEMAS AUXILIARES UTILIZADOS NAS 20
SUBESTAES
Neste caso, o valor de n no deve ser superior relao Vmx / Vf1, pois neste
caso, a tenso de flutuao da bateria ser maior que a tenso mxima
admitida pelos equipamentos. Por outro lado, o valor de n no deve ser
inferior relao Vmn / Vfn , pois a tenso final de descarga por elemento ser
menor que a normalmente adotada para o clculo da capacidade da bateria.
f) Tempo de Recarga
O tempo necessrio para a bateria atingir sua plena capacidade aps uma
descarga, ser funo da tenso aplicada nos elementos e da corrente
disponvel para a bateria. A tabela 3 , ilustra o tempo de carga para as baterias
tipo chumbo-cidos da NIFE.
Tabela 3 Tempo de carga para baterias chumbo- cidos da NIFE
TENSO DE
TEMPO DE CARGA EM HORAS
CARGA V / Ele.
Ic = 0,1 C10
Ic = 0,2 C10
2,2
100 120
65 80
2,3
60 80
25 35
2,35
45 60
20 30
2,4
25 30
17 20
2,5
15 18
10 12
Em funo do ciclo de descarga ser definido o tempo mais apropriado para a
recarga da bateria e consequentemente, a tenso de equalizao a ser adotada e
ainda a limitao da corrente inicial. Para subestaes e centrais eltricas o
tempo de recarga de 10 horas.
356
CAPTULO 12
NOES SOBRE SISTEMAS AUXILIARES UTILIZADOS NAS 21
SUBESTAES
Caso o tempo selecionado para efetuar a recarga da bateria, implique em um
valor da tenso de equalizao acima da permitida pelo sistema, tem-se duas
opes:
9 Dotar o sistema de diodos de queda;
9 Desligar os consumidores quando da aplicao da carga de equalizao.
A tentativa de uma ou outra soluo dever ser analisada em funo do
esquema adotado para a alimentao das cargas.
Verifica-se tambm, que somente com uma determinada tenso de
equalizao, a bateria pode atingir 100% de sua capacidade. Com base nas
curvas tpicas de carga com tenso constante, determina-se qual poder ser a
capacidade recolocada na tenso e tempo escolhido. Se for, por exemplo 90%,
acrescenta-se 10% da capacidade necessria ao sistema quando a bateria
estiver com 90% de sua capacidade.
g) Variao da Resistncia Interna (Ri)
Durante a descarga de um acumulador e, portanto segundo seu estado de
carga, ocorre variao da resistncia interna do elemento. Nos acumuladores
chumbo- cidos, durante um ciclo de descarga, a densidade do eletrlito
diminui e, portanto, tambm tenso, aumentando, por conseguinte, a
resistncia interna.
357
NOES SOBRE SISTEMAS AUXILIARES UTILIZADOS NAS 22
CAPTULO 12
SUBESTAES
h) Classificao quanto ao Servio
Os acumuladores podem ser classificados em:
Estacionrios
Tracionrios
Os estacionrios destinam-se a fornecer energia eltrica em casos de picos de
consumo, ou em caso de falha dos correspondentes carregadores.
Os tracionrios destinam-se a fornecer energia para partida de motores de
combusto interna, acionamento de freios magnticos, etc.
5.1.2 CARREGADORES RETIFICADORES
a) Equao geral
A figura 7 mostra o circuito eltrico de um carregador-retificador
I
A
VAC
Retificador
Ip
Ic
It
Figura 7 circuito eltrico de um carregador de bateria
Com base na figura 7, pode-se escrever:
I = I p + I c + It
(1)
Onde:
358
CAPTULO 12
NOES SOBRE SISTEMAS AUXILIARES UTILIZADOS NAS 23
SUBESTAES
Ip perdas na baterias (por auto-descarga);
Ic consumo permanente;
It consumo transitrio.
b) Tipos de Carregadores Retificadores
Podem ser encontrados os seguintes tipos de carregadores
retificadores:
No regulados, no ajustveis (manual);
No regulados, mas com ajuste da tenso de carga e corrente de sada
(semi-automtico);
Regulados (automtico).
A equao (1) definida acima, s inteiramente satisfeita pelo
retificador automtico. Desta forma, para subestaes e centrais eltricas o
tipo de retificador apropriado o automtico para carga com tenso constante
e limitao de corrente.
O carregador-retificador automtico consiste de um sistema de
transdutores ou SCR, que processam uma realimentao da informao de
sada para a entrada da ponte retificadora.A figura 8 ilustra o comentrio
realizado.
359
NOES SOBRE SISTEMAS AUXILIARES UTILIZADOS NAS 24
CAPTULO 12
SUBESTAES
V
Vnom.
Inom.(%)
figura 8 curva caracterstica de um carregador-retificador.
A partir do joelho da curva o retificador funciona como gerador de
corrente constante e no de tenso. uma auto-proteo contra solicitaes
excessivamente altas.
c) Caractersticas Principais
De entrada:
Tenso nominal
Faixa de variao de tenso ( 15%)
Frequncia nominal
Faixa de variao de frequncia ( 5%)
Fator de potncia (0,6 a 0,85)
De sada:
Corrente nominal (limitada ao valor nominal In ajustvel de 50% a
105% de In)
Regulao esttica e dinmica da tenso de sada
Tenso de ripple
360
CAPTULO 12
NOES SOBRE SISTEMAS AUXILIARES UTILIZADOS NAS 25
SUBESTAES
Tenso de recarga
Tenso de Flutuao
Eficincia
OBSERVAES:
1)
Regulao esttica da tenso de sada
Variao permissvel da tenso de sada, em regime de flutuao ou de
carga, sem o emprego de baterias em paralelo com os carregadores.
Na condio de funcionamento em vazio, a variao da tenso de sada
no deve ultrapassar o dobro do valor especificado.
2)
Regulao dinmica da tenso de sada
Variao permissvel da tenso de sada, aps 150ms da aplicao de
um degrau de 50% da corrente nominal (crescente ou decrescente), entre 50%
e 100% do valor da corrente de sada do carregador, ou de um degrau de 5%
da de sada (crescente ou decrescente), em ambos os casos, com emprego de
carga resistiva e sem a bateria em paralelo com o carregador.
d) Unidade de Diodos de Queda (U.D.Q.)
Conforme descrito anteriormente s vezes necessrio evitar que a tenso de
sada C.C. ultrapasse um certo valor. Para isto, deve-se reduzir a tenso em
recarga ou mesmo em flutuao. A UDQ reduz automaticamente a tenso
mediante um sensor.
361
CAPTULO 12
NOES SOBRE SISTEMAS AUXILIARES UTILIZADOS NAS 26
SUBESTAES
Para reduzir a tenso, emprega-se uma srie de diodos cuja queda de tenso
varia muito pouco com a corrente, podendo-se adotar o valor mdio de 0,8 V
por diodo, para efeito de clculo, sempre que a corrente for superior a 10% em
relao capacidade nominal da UDQ. A figura 9, identifica o diagrama
simplificado de uma unidade de diodos de queda.
1 ESTGIO
2 ESTGIO
SENSOR
Figura 9 - Diagrama Simplificado de uma UDQ.
5.2 DIMENSIONAMENTO DOS ACUMULADORES
a) Clculo da capacidade
A capacidade de uma bateria a quantidade de eletricidade em ampere-hora,
corrigida para a temperatura de referncia, fornecido pelo acumulador em
determinado regime de descarga at atingir a tenso final de descarga.
A adoo de um ciclo de descarga ir ter uma variao em funo de cada
caso, mas para subestaes e centrais eltricas, de uma maneira geral, deve-se
colocar a maior solicitao no final do ciclo.
As equao gerais para a determinao da capacidade da bateria, a partir de
um determinado ciclo de descarga so caracterizadas pelas equaes 2 e 3.
362
CAPTULO 12
NOES SOBRE SISTEMAS AUXILIARES UTILIZADOS NAS 27
SUBESTAES
(I n I n 1)
(I 2 I1) (I3 I 2)
I
+
+ ........ +
Ct = 1 +
Kn
K1
K2
K3
(2)
C t = K1I1 + K (I 2 I1 ) + K 3 (I3 I 2 ) + ........ + K (I n I n 1)
2
n
(3)
Os valores de K1 , K2 , ..., Kn so obtidos atravs das curvas de descarga e so
funes do tipo de bateria, do tempo, da tenso final requerida e da
temperatura.
Os valores de I1 , I2 , ..., In so obtidos em funo dos ciclos de descarga.
A NIFE apresenta os valores de K para serem aplicados na equao (2).
A EXIDE e a C & D apresentam os valores de K para serem aplicados na
equao (3).
b) Considerao sobre o ciclo de descarga
- Cargas Permanentes
- So as que solicitam a bateria durante todo o ciclo de descarga, entre as
quais, destacam-se: sinaleiros, rels de intertravamento, fontes auxiliares
de rels estticos, pontos anunciadores, oscilgrafos, telefonia.
- Cargas No Permanentes
So as que solicitam a bateria durante um determinado tempo no ciclo de
descarga. As cargas no permanentes devem ser plotadas no ciclo de descarga
nos tempos correspondentes sua entrada e sada do ciclo.
363
CAPTULO 12
NOES SOBRE SISTEMAS AUXILIARES UTILIZADOS NAS 28
SUBESTAES
Cargas momentneas que existem por frao de segundo devem ser
consideradas como tendo a durao de 1 minuto, pois a queda de tenso na
bateria causada por uma carga momentnea praticamente a mesma aps 1
minuto.
Quando cargas momentneas ocorrem dentro do mesmo minuto, deve ser
verificado se existe ou no a possibilidade de serem simultneas. Se existe a
possibilidade, as cargas devero ser somadas, caso contrrio toma-se, a maior.
A bateria deve ter uma capacidade suficiente para atender estas cargas
momentneas. O valor da corrente da bateria para 1 minuto tenso final,
dever ser igual ou superior aos picos de corrente produzidos pelas cargas.
Caso contrrio, tem-se uma queda de tenso nos terminais da bateria de valor
superior ao admitido pelo sistema.
Quando se perde o retificador, o comportamento da carga torna-se um valor
varivel, isto , conforme a tenso nos terminais da bateria atinja valores
decrescentes, a corrente alcana valores crescentes. Dada uma carga com
determinada potncia deve-se, para determinar a corrente, dividir este valor da
carga pela tenso mnima que poder aparecer nos bornes do equipamento,
quando a tenso nos terminais da bateria for a mnima admitida.
O clculo da corrente, quando efetuado da maneira acima exposta, conduz a
um resultado conservativo, isto , h um
sobredimensionamento da
capacidade da bateria.
364
CAPTULO 12
NOES SOBRE SISTEMAS AUXILIARES UTILIZADOS NAS 29
SUBESTAES
c) Efeito da Temperatura
Para as baterias chumbo- cidos, aps encontrar o valor de sua
capacidade nominal, deve-se fazer a sua correo para uma temperatura de
referncia, a qual dada por:
C
Creal = 10
k1
(4)
onde:
k1 constante que leva em considerao quando a temperatura
diferente da referncia. Este fator fornecido pela tabela 4.
Tabela 4 Valores de temperatura de referncia
Para as baterias alcalinas no h necessidade de correo.
TEMPERATURA [C]
k1
0,72
0,80
10
0,86
15
0,91
20
0,96
25
1,00
30
1,02
35
1,04
40
1,07
365
CAPTULO 12
NOES SOBRE SISTEMAS AUXILIARES UTILIZADOS NAS 30
SUBESTAES
d) Efeito do Envelhecimento
Aps levar em considerao a correo dos efeitos da temperatura, deve-se
corrigir a efeito do envelhecimento natural. Para baterias alcalinas, h um
acrscimo de 10%, enquanto que para as baterias chumbo- cidos, h um
aumento de 20 a 25%.
5.3 DIMENSIONAMENTO DOS RETIFICADORES
O valor da capacidade nominal de um carregador dado pela equao 5.
In = Ip + Icb
Onde:
(5)
Ip corrente permanente
Icb corrente de carga da bateria.
O valor da corrente de carga da bateria pode variar de 0,1 a 0,2 vezes a
capacidade em 10 horas, em funo da tenso de recarga e do tempo desejado
para restabelecer a bateria a sua plena capacidade, conforme apresentado no
item anterior.
Este valor pode tambm ser calculado conforme a equao 6.
I cb =
K Cn
H
(6)
366
CAPTULO 12
NOES SOBRE SISTEMAS AUXILIARES UTILIZADOS NAS 31
SUBESTAES
Onde:
K varivel dependendo do tipo da bateria;
Para baterias chumbo-cidos: K = 1,10
Para baterias alcalinas: K = 1,40
H tempo escolhido para carregar a bateria. Este valor varia de 6
a 24 h. Para subestaes e centrais eltricas, usa-se H = 10 h.
A potncia de sada pode ser expressa pela equao 7.
Psada = Vc . In
P
Pentrada = sada
Onde:
(7)
(8)
- a eficincia (rendimento)
Vc a tenso mxima em regime de carga.
5.4 DIMENSIONAMENTO DA UNIDADE DE DIODOS DE QUEDA
(U.D.Q.)
Para verificao da necessidade e para o dimensionamento da unidade de
diodos de queda, baseia-se nas seguintes informaes:
367
CAPTULO 12
NOES SOBRE SISTEMAS AUXILIARES UTILIZADOS NAS 32
SUBESTAES
a Tenso de trabalho mxima permissvel pelo consumidor (Vmx)
b Tenso de trabalho mnima permissvel pelo consumidor (Vmn)
c Tenso de carga da bateria (V1)
d Tenso de Flutuao da bateria (V2)
Se Vmx V1 no h necessidade de UDQ
Se Vmn < V1 h necessidade de UDQ.
Neste caso, a queda de tenso necessria ser dada por: V = V1 Vmx
Se V2 Vmx recomenda-se apenas um estgio de UDQ
Se V2 > Vmx recomenda-se mais de um estgio de UDQ
Se (Vmx - V / n) < Vmn recomenda-se aumentar n (nmero de
estgios at que ocorra o inverso).
Devem ainda, ser considerados nestes clculos, os seguintes dados:
Queda de tenso nos cabos entre bateria- retificador-consumidor;
Estabilidade de tenso do retificador ( 1%);
Preciso do sensor de tenso da UDQ (1%);
Corrente que deve suportar a UDQ.
Para o clculo de corrente da UDQ, pode-se aplicar o mtodo simplificado,
levantando-se atravs da curva do fusvel que protege o consumidor, tanto na
ausncia quanto na presena de CA de alimentao e utilizar o diodo e o
contator seletivos com o fusvel.
368
CAPTULO 12
NOES SOBRE SISTEMAS AUXILIARES UTILIZADOS NAS 33
SUBESTAES
Quando utilizar a mesma curva de consumo na ausncia e na presena de CA,
o fusvel ser nico e portanto, os diodos e o contator so de mesma
capacidade. A figura 10 ilustra o exposto.
UDQ
DIODOS
FUSVEL
(Tipo 1)
CONTATOR
Figura 10 Proteo com um nico fusvel
Quando a curva de consumo na ausncia de CA for diferente da curva de
consumo na presena de CA, tem-se dois fusveis de proteo. A figura 11
ilustra o comentrio exposto.
UDQ
DIODOS
FU 1
(Tipo 2)
FU 2
CONTATOR
Figura 11 - Proteo dos diodos por dois fusveis. Sendo que o fusvel 1 deve
ser seletivo com os diodos, enquanto que fusvel 2 deve ser seletivo com o contator.
369
CAPTULO 12
NOES SOBRE SISTEMAS AUXILIARES UTILIZADOS NAS 34
SUBESTAES
5.5 CLCULO DO CURTO-CIRCUITO
Geralmente a mxima corrente de curto-circuito da ordem de 9 a 12 vezes a
capacidade de descarga durante 1 minuto para 1,75 V. Normalmente adotado
o valor de 10 vezes o valor da descarga de 1 minuto.
5.6 PROTEO DOS CIRCUITOS
Para baterias de capacidade 200 Ah, o dimensionamento do dispositivo de
proteo feito para suportar a corrente com tenso final de descarga de 1,75
V.
No caso de baterias menores de 200 Ah, recomenda-se utilizar um dispositivo
de proteo para suportar uma corrente igual a 1,5 vezes a capacidade de
descarga da bateria durante 1 minuto para uma tenso final de 1,75 V.
Os dispositivos de proteo devem atuar aps 1 segundo em carga mxima.
Recomenda-se que os dispositivos de proteo dos circuitos individuais
devem suportar 1 / 3 da corrente necessria para o mecanismo de fechamento
dos disjuntores.
370
Você também pode gostar
- Eletrotécnica PDFDocumento212 páginasEletrotécnica PDFEduardo Coelho100% (4)
- Gabarito Ae1 História 8º AnoDocumento9 páginasGabarito Ae1 História 8º AnoAntonio Correia100% (3)
- Modelos de LaudosDocumento6 páginasModelos de Laudoswillams AlvesAinda não há avaliações
- Ebook Takae Sasaki V002 PDFDocumento27 páginasEbook Takae Sasaki V002 PDFRenato BaptistaAinda não há avaliações
- Esquemas de Instalação Dps PDFDocumento12 páginasEsquemas de Instalação Dps PDFBezerra Eletrica100% (1)
- Análise de Motor TrifásicoDocumento4 páginasAnálise de Motor TrifásicoBezerra Eletrica100% (1)
- Master BIM - IPOGDocumento20 páginasMaster BIM - IPOGGrover FmzAinda não há avaliações
- Como Usar Um Multímetro PDFDocumento17 páginasComo Usar Um Multímetro PDFBezerra Eletrica100% (1)
- Apostila Básica - EletroeltrônicaDocumento318 páginasApostila Básica - EletroeltrônicaBezerra EletricaAinda não há avaliações
- Apostila de Programação Ladder - CLP Micrologix 1200Documento25 páginasApostila de Programação Ladder - CLP Micrologix 1200TheFeXAinda não há avaliações
- Eletricista Montador - Fundamentos de Protecao e ComandoDocumento178 páginasEletricista Montador - Fundamentos de Protecao e ComandocarlosmarciosfreitasAinda não há avaliações
- Maquinas Eletricas Senai PDFDocumento99 páginasMaquinas Eletricas Senai PDFFausto Souza100% (3)
- MÁQUINA: D560 / D760: Corrente Tensão Corrente Qm1 Fator Ajuste Ajuste Qm1 Potência M1 Corrente M1 Potência Cabo EntradaDocumento162 páginasMÁQUINA: D560 / D760: Corrente Tensão Corrente Qm1 Fator Ajuste Ajuste Qm1 Potência M1 Corrente M1 Potência Cabo EntradaRoger RochaAinda não há avaliações
- Avaliação - Educação Do Deficiente Físico e Do Múltiplo DeficienteDocumento3 páginasAvaliação - Educação Do Deficiente Físico e Do Múltiplo DeficienteAngelo ParriniAinda não há avaliações
- Fusíveis e Disjuntor Proteção PDFDocumento47 páginasFusíveis e Disjuntor Proteção PDFBezerra Eletrica83% (6)
- Fusíveis e Disjuntor Proteção PDFDocumento47 páginasFusíveis e Disjuntor Proteção PDFBezerra Eletrica83% (6)
- ABNT NBR Disjuntores X Normas AbntDocumento15 páginasABNT NBR Disjuntores X Normas AbntMCezarpadovani100% (1)
- DpsDocumento12 páginasDpsJonatas Santos100% (1)
- Harmônicas Nas Instalações ElétricasDocumento8 páginasHarmônicas Nas Instalações ElétricasWesley FernandesAinda não há avaliações
- Instalacoes Eletricas 2Documento78 páginasInstalacoes Eletricas 2magtrolAinda não há avaliações
- Cadernotecnico 04Documento4 páginasCadernotecnico 04Nuno HenriquesAinda não há avaliações
- Multisim Profissional 14.2 Ativador PDFDocumento1 páginaMultisim Profissional 14.2 Ativador PDFBezerra EletricaAinda não há avaliações
- Calculo de Curto Circuito 2 PDFDocumento3 páginasCalculo de Curto Circuito 2 PDFBezerra EletricaAinda não há avaliações
- Plano de Ensino PDFDocumento3 páginasPlano de Ensino PDFIdna AlencarAinda não há avaliações
- Marvel RPGDocumento6 páginasMarvel RPGChaulin Diogo da CostaAinda não há avaliações
- UNEB 2019 Caderno 2 Medicina Modelo 1Documento17 páginasUNEB 2019 Caderno 2 Medicina Modelo 1Clara AmorimAinda não há avaliações
- Atividade TOC TOCDocumento2 páginasAtividade TOC TOCSr RamosAinda não há avaliações
- Despesas CaiãoDocumento6 páginasDespesas CaiãoCaio VitalAinda não há avaliações
- Artigo - Utilizar No Trabalho de FundaçõesDocumento7 páginasArtigo - Utilizar No Trabalho de FundaçõesBruno PerozaAinda não há avaliações
- Apostila Fazendo Seu Dicionario de AcordesDocumento8 páginasApostila Fazendo Seu Dicionario de AcordesNelson PedonAinda não há avaliações
- Dilatação Linear de Um Sólido MetálicoDocumento9 páginasDilatação Linear de Um Sólido MetálicoCarlos HenriqueAinda não há avaliações
- Apostila Irrigação 2012Documento77 páginasApostila Irrigação 2012anon_140267718Ainda não há avaliações
- Crea-Pe: Garanhuns 13 Setembro 2023Documento1 páginaCrea-Pe: Garanhuns 13 Setembro 2023Antonio EduardoAinda não há avaliações
- Ebook Estratégias Que Eu Usei para Faturar Mais de 10k Por MêsDocumento61 páginasEbook Estratégias Que Eu Usei para Faturar Mais de 10k Por Mêsju.balanAinda não há avaliações
- Metaforas LibrasDocumento29 páginasMetaforas LibrasRobertAinda não há avaliações
- AzevedoDocumento14 páginasAzevedoDinheirama.comAinda não há avaliações
- Portaria 218 2015 23jul CContasDocumento22 páginasPortaria 218 2015 23jul CContasJorge FranciscoAinda não há avaliações
- Lista de Exercícios FísicaDocumento7 páginasLista de Exercícios FísicahudsmarAinda não há avaliações
- Manual Aspirador Electronia BST-803 Calipso - 3117828Documento16 páginasManual Aspirador Electronia BST-803 Calipso - 3117828Selenita VoshinAinda não há avaliações
- Aula 0 - Equipamentos PDFDocumento6 páginasAula 0 - Equipamentos PDFPaulo VitorAinda não há avaliações
- AP1 - AII - 2019-2 - GabaritoDocumento3 páginasAP1 - AII - 2019-2 - GabaritoRoberto Jesus LinaresAinda não há avaliações
- Como Reproduzir Orquídeas Facilmente em Casa - Keikis, Estacas e BulbosDocumento12 páginasComo Reproduzir Orquídeas Facilmente em Casa - Keikis, Estacas e BulbosfegenoliAinda não há avaliações
- #6 Construção de MASMORRAS 1 PGDocumento1 página#6 Construção de MASMORRAS 1 PGLIE glcAinda não há avaliações
- Apostila de ExerciciosDocumento119 páginasApostila de ExerciciosHeitor Berger100% (1)
- 12.07 - PortuguesDocumento9 páginas12.07 - PortuguesMarcos HenriqueAinda não há avaliações
- 1 Lista de Exercicios - Poo - Lucas Zuque - 2268710Documento7 páginas1 Lista de Exercicios - Poo - Lucas Zuque - 2268710Lucas ZuqueAinda não há avaliações
- Manual KGD Válvulas Guilhotina de Lama Clarkson BP PT BR 5193474Documento16 páginasManual KGD Válvulas Guilhotina de Lama Clarkson BP PT BR 5193474JrbritoAinda não há avaliações