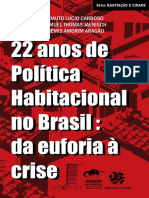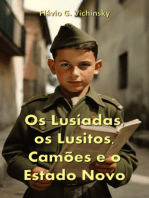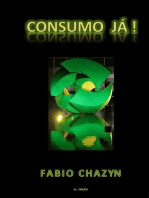Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Economia Brasileira Uma Introducao Didatica PDF
Economia Brasileira Uma Introducao Didatica PDF
Enviado por
Swellen PereiraTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Economia Brasileira Uma Introducao Didatica PDF
Economia Brasileira Uma Introducao Didatica PDF
Enviado por
Swellen PereiraDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 1
2 Luiz Carlos Bresser Pereira
Luiz Carlos Bresser Pereira
ECONOMIA BRASILEIRA
Uma Introduo Crtica
3 edio revista e atualizada em 1997
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 3
EDITORA 34
Editora 34 Ltda.
R. Hungria, 592 Jardim Europa CEP 01455-000
So Paulo - SP Brasil Tel/Fax (011) 816-6777
Copyright Editora 34 Ltda., 1998
Economia brasileira: uma introduo crtica Luiz Carlos Bresser Pereira, 1998
A FOTOCPIA DE QUALQUER FOLHA DESTE LIVRO ILEGAL, E CONFIGURA UMA
APROPRIAO INDEVIDA DOS DIREITOS INTELECTUAIS E PATRIMONIAIS DO AUTOR.
Capa, projeto grfico e editorao eletrnica:
Bracher & Malta Produo Grfica
Imagem da capa:
Amilcar de Castro, Sem ttulo, 1990, tinta acrlica s/ tela
Reviso:
Maria Clara de Lima Costa
1 Edio - 1982, 3 reimpresses (Editora Brasiliense, So Paulo)
2 Edio - 1986, 7 reimpresses (Editora Brasiliense, So Paulo)
3 Edio - 1998
Catalogao na Fonte do Departamento Nacional do Livro
(Fundao Biblioteca Nacional, RJ, Brasil)
Pereira, Luiz C. Bresser (Luiz Carlos Bresser)
P436e Economia brasileira: uma introduo crtica /
Luiz Carlos Bresser Pereira; 3 edio revista e
atualizada em 1997 So Paulo: Ed. 34, 1998
224 p.
Inclui bibliografia.
ISBN 85-7326-083-1
1. Brasil - Condies econmicas. 2. Brasil -
Poltica econmica. I. Ttulo.
CDD - 330.981
4 Luiz Carlos Bresser Pereira
ECONOMIA BRASILEIRA
Uma Introduo Crtica
3 edio revista e atualizada em 1997
para Celso Furtado
e Igncio Rangel,
mestres de economia poltica
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 5
6 Luiz Carlos Bresser Pereira
ECONOMIA BRASILEIRA
Uma Introduo Crtica
Prefcio. ETAPAS E INTERPRETAES DO BRASIL ............................ 11
A VISO GERAL ........................................................................... 19
Primeira Parte. AS BASES DO SUBDESENVOLVIMENTO .................... 23
1. Subdesenvolvimento e Dependncia ..................................... 25
2. As Teorias sobre o Subdesenvolvimento .............................. 31
3. Capital Mercantil e Acumulao Primitiva .......................... 35
Segunda Parte. A LGICA DA ACUMULAO INDUSTRIAL .............. 39
4. Capital Industrial e Mais-Valia ............................................ 41
5. Capitalismo Monopolista .................................................... 47
6. Industrializao Substitutiva de Importaes ....................... 51
7. As Empresas Multinacionais ................................................ 57
8. Capitalismo Estatal .............................................................. 61
9. Capitalismo Tecnoburocrtico ............................................. 67
10. O Modelo de Subdesenvolvimento Industrializado .............. 71
11. Acumulao e Desenvolvimento .......................................... 75
12. Pequena Formalizao do Modelo ....................................... 81
Terceira Parte. OS DESEQUILBRIOS ESTRUTURAIS .......................... 85
13. Altos Lucros e Ordenados, Baixos Salrios .......................... 87
14. Desequilbrios Regionais ...................................................... 95
15. Agricultura e Indstria ......................................................... 99
16. Dualismo e Tecnologia ........................................................ 105
Quarta Parte. OS DESEQUILBRIOS MACROECONMICOS ............... 109
17. Crises Cclicas ...................................................................... 111
18. As Crises de 1962 e 1974 ..................................................... 117
19. O Desequilbrio Externo e a Taxa de Cmbio ...................... 123
20. O Desequilbrio Financeiro .................................................. 129
21. A Taxa de Juros ................................................................... 133
22. A Inflao ............................................................................ 137
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 7
Quinta Parte. POLTICA ECONMICA ........................................... 145
23. Planejamento Econmico ..................................................... 147
24. Poltica de Rendas ................................................................ 151
25. Poltica de Rendas e Lei do Valor ........................................ 155
26. Poltica Econmica Ortodoxa .............................................. 159
Sexta Parte. CRISE E REFORMA .................................................... 163
27. A Grande Crise .................................................................... 165
28. A Crise Fiscal do Estado ...................................................... 171
29. As Tentativas de Estabilizao ............................................. 179
30. As Reformas Estruturais ...................................................... 185
31. O Plano Real ....................................................................... 195
32. Mercosul e Integrao Americana ........................................ 203
33. Rumo ao Futuro .................................................................. 207
Obras Citadas ............................................................................ 215
8 Luiz Carlos Bresser Pereira
NDICE DE QUADROS
I. Produo por Habitante nos 30 Pases mais Populosos
do Mundo .......................................................................... 26
II. Distribuio de Renda em Diversos Pases .......................... 28
III. Distribuio em Porcentagem das 100 e das 200 Maiores
Empresas entre Nacionais, Multinacionais e Estatais .......... 49
IV. Taxas de Crescimento por Setor ......................................... 53
V. Participao dos Setores na Renda ...................................... 53
VI. Participao do Estado na Acumulao de Capital ............. 65
VII. Taxas de Acumulao e Desenvolvimento .......................... 77
VIII. Evoluo da Populao Brasileira ....................................... 78
IX. Salrio Mnimo e PIB por Habitante em Alguns Pases
da Amrica Latina .............................................................. 87
X. Distribuio da Renda no Brasil ......................................... 90
XI. ndices de Salrio Mnimo, Mdio e Produtividade ............. 93
XII. Posio Relativa Nordeste/Brasil ........................................ 96
XIII. Desempenho da Agricultura ............................................... 100
XIV. Taxa de Lucro e Taxa de Investimento ............................... 121
XV. O Desequilbrio Externo ..................................................... 126
XVI. Inflao no Brasil ................................................................ 138
XVII. Carga Tributria (em 1975) e Distribuio ......................... 155
XVIII. Variveis Macroeconmicas Internas .................................. 166
XIX. Taxa de Inflao Anual ...................................................... 167
XX. Contas do Setor Pblico ..................................................... 172
XXI. Dficit Pblico .................................................................... 188
XXII. Tarifas de Importao ........................................................ 189
XXIII. Principais Variveis Macroeconmicas Aps o
Plano Real .......................................................................... 199
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 9
10 Luiz Carlos Bresser Pereira
Prefcio
ETAPAS E INTERPRETAES DO BRASIL
Economia brasileira: uma introduo crtica um livro hbrido por ser
ao mesmo tempo um livro introdutrio, quase didtico, e um ensaio pessoal
sobre as origens do subdesenvolvimento brasileiro e a natureza fundamental
da economia brasileira. Para construir um modelo simplificado desta economia,
usei quatro fontes principais: (1) a teoria de longo prazo do desenvolvimento
de Smith e Marx; (2) a macroeconomia de Keynes e Kalecki; (3) a sociologia
da burocracia de Weber; (4) a viso do subdesenvolvimento que os economistas
estruturalistas latino-americanos desenvolveram, principalmente Raul Prebisch,
Caio Prado Jr., Celso Furtado, Igncio Rangel, Anbal Pinto, Hlio Jaguaribe,
Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faletto, Oswaldo Sunkel, Maria da Con-
ceio Tavares, Antnio Barros de Castro e Luciano Martins; e (5) a teoria da
inflao inercial, que economistas neo-estruturalistas latino-americanos desen-
volveram, particularmente os pioneiros, Felipe Pazos, Joseph Ramos, Mrio
Henrique Simonsen, e os responsveis pela teoria, Andr Lara Resende, Edmar
Bacha, Eduardo Modiano, Francisco Lopes, Prsio Arida e Yoshiaki Nakano.
Esta a terceira edio deste livro que teve muitas impresses. a se-
gunda vez que atualizo este livro. A primeira edio foi de 1982. O aprofun-
damento da crise no ano seguinte e a aparente recuperao da economia bra-
sileira a partir de 1984 sugeriram uma primeira atualizao em 1986, logo
aps a edio do Plano Cruzado. A retomada da crise nos anos seguintes, sua
caracterizao como uma crise fiscal do Estado ou, mais amplamente, como
uma crise do Estado, e finalmente as reformas que passaram a ocorrer a par-
tir de 1990, coroadas com o Plano Real, de 1994, justificaram uma segunda
atualizao e, portanto, uma terceira edio deste livro. Nesta terceira edi-
o, no fiz alteraes a no ser a partir do Captulo 27. Os captulos que
havia acrescentado em 1986 foram cancelados, sendo substitudos por cinco
novos captulos. O captulo final, Rumo ao futuro, foi amplamente alte-
rado, embora se conservasse a idia de que o Brasil pode ser definido como
uma economia caracterizada pelo subdesenvolvimento industrializado.* A esta
* H outros livros introdutrios economia brasileira. Destaco dois deles: A econo-
mia brasileira, de Werner Baer (1995) e A economia brasileira ao alcance de todos, de Eliana
Cardoso (1985).
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 11
idia se acrescentou a de que, em lugar do Estado Desenvolvimentista, est
surgindo no pas um Estado Social-Liberal.
As grandes crises marcam etapas do desenvolvimento econmico e so-
cial de um pas. Etapas que correspondem a novas interpretaes, ou seja,
novas vises que o pas formula de si prprio. Neste livro, examinamos a
economia brasileira de uma maneira a mais abrangente possvel, adotando
sempre uma perspectiva histrica. Na introduo, Viso geral, dividi o
desenvolvimento brasileiro em duas grandes etapas: o Perodo Mercantil, at
1930, e o Perodo Industrial, de 1930 em diante.
Podemos, entretanto, discernir pelo menos duas grandes fases no Perodo
Mercantil: a Fase Colonial, marcada por dois grandes ciclos o da cana-
de-acar no sculo XVII, e o do ouro no sculo XVIII e a Fase Primrio-
Exportadora, caracterizada principalmente pela expanso cafeeira, que co-
mea no incio do sculo XIX e entra em colapso nos anos 30.
Ao contrrio do que pretenderam a teoria do imperialismo e a teo-
ria do centro-periferia, em voga entre os anos 30 e 60, sustento neste livro
que a origem do subdesenvolvimento brasileiro no se encontra na Fase Pri-
mrio-Exportadora, na diviso internacional do trabalho ocorrida a partir
da Revoluo Industrial na Europa, mas na Fase Colonial. Conforme obser-
vou Caio Prado Jr. em Histria econmica do Brasil, a natureza da coloni-
zao ocorrida no Brasil, em vez de ter sido uma colonizao de povoamen-
to, como acorreu no Nordeste dos Estados Unidos, foi uma colonizao mer-
cantil. Ora, na lgica da acumulao mercantil, no existe a preocupao com
a incorporao do progresso tcnico e com o aumento da produtividade. Este
fato, somado ao carter predatrio da colonizao portuguesa, explica por-
que, por volta de 1800, a renda por habitante do Brasil, em dlares de 1950,
devia situar-se em torno de 50 dlares, contra uma renda per capita oito a
dez vezes maior na Inglaterra, na Frana, na Alemanha e na Nova Inglater-
ra. A origem do subdesenvolvimento brasileiro, portanto, est claramente na
Fase Colonial. A leitura atenta do clssico de Celso Furtado, Formao eco-
nmica do Brasil, leva mesma concluso. No obstante, nem Caio Prado
Jr., nem Celso Furtado, que publicaram seus livros nos anos 40 e 50 respec-
tivamente, quando essa discusso era central no Brasil e mais amplamente
na Amrica Latina, concluram nessa direo, deixando que prosperasse a tese
de que fora o imperialismo ingls do sculo XIX o responsvel pelo nosso
subdesenvolvimento.
O desenvolvimento brasileiro comea, na verdade, no sculo XIX, na
Fase Primrio-Exportadora. nesse perodo que tem incio a efetiva acumu-
lao primitiva de capital no Brasil, ou seja, a formao de uma burguesia
12 Luiz Carlos Bresser Pereira
local dotada de capital prprio. Esta acumulao original realiza-se atravs
da constituio da burguesia cafeeira. Esta burguesia tem ainda muito das
caractersticas de uma burguesia mercantil. Est muito mais preocupada em
lucrar a partir da expanso das plantaes, do uso do trabalho escravo e da
manipulao da taxa de cmbio pelo Governo do que por meio da introdu-
o de novas tcnicas visando o aumento da produtividade. Mas no h dvida
de que, desde o incio do ciclo cafeeiro, na primeira metade do sculo XIX, o
pas passa a se desenvolver de forma contnua e razoavelmente sustentada.
O primeiro surto industrial de alguma importncia acontece j em So
Paulo, no final do sculo, como fruto da expanso cafeeira, mas s com a
crise dos anos 30 que a industrializao brasileira arranca definitivamente,
ao mesmo tempo em que o capital industrial se torna dominante econmica
e politicamente. Inicia-se, ento, o Perodo Industrial do desenvolvimento
brasileiro. No coincidentemente, nesta data que ocorre a Revoluo de
1930, na qual a burguesia mercantil primrio-exportadora paulista cafeeira
derrotada por uma coalizo liderada por Getlio Vargas, da qual fazem parte
a burguesia mercantil substituidora de importaes do Sul e do Nordeste, do
qual Vargas o lder, a nova classe industrial paulista e a classe mdia buro-
crtica localizada no Estado.
O Perodo Industrial pode ser dividido em duas fases: a fase da Revolu-
o Industrial Brasileira, entre 1930 e 1960, e a de Subdesenvolvimento In-
dustrializado, entre 1960 e 1980. A primeira a fase da industrializao por
substituio de importaes, na qual o Estado desempenha um papel decisi-
vo em apoiar a indstria nascente. tambm a fase de consolidao de uma
burguesia industrial no Brasil. a fase em que o pas deixa definitivamente
de ser uma economia essencialmente agrcola, como pretendia a Interpre-
tao da Vocao Agrcola, e passa a ser uma economia industrial, como, nos
anos 50, afirma e prope a Interpretao Nacional-Desenvolvimentista, pro-
posta por Raul Prebisch e Celso Furtado, a partir da distino entre o centro
e a periferia.
A crise do incio dos anos 60 marca o fim do perodo ureo da substi-
tuio de importaes. Nos vinte anos seguintes, a mesma estratgia ser,
entretanto, mantida pelo regime militar que se instaura no pas em 1964.
Depois de uma estabilizao bem sucedida entre 1964 e 1967, o pas retoma
o desenvolvimento com base em uma aliana autoritria tecnoburocrtico-
capitalista, que tem como participantes a burguesia local novamente unida,
a tecnoburocracia civil e militar, no apenas estatal mas tambm privada, e
as empresas multinacionais. Esta a Fase do Subdesenvolvimento Industria-
lizado, no qual as distores da economia, particularmente a concentrao
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 13
da renda e o endividamento externo, agravam-se, estabelecendo-se as bases
para uma grande crise fiscal nos anos 80.
Esta a fase explicada pela Interpretao da Nova Dependncia, para
a qual a contribuio de Fernando Henrique Cardoso foi fundamental, em-
bora as de outros autores, como Maria da Conceio Tavares, Antnio Bar-
ros de Castro e Luciano Martins, sejam tambm essenciais. Desde meu pri-
meiro livro, Desenvolvimento e crise no Brasil (1968), meu interesse intelec-
tual bsico foi em discutir o esgotamento do modelo de substituio de im-
portaes e do correspondente pacto poltico populista e nacional-desenvol-
vimentista. Nos anos 70, vou procurar entender a nova dependncia, ou o
novo modelo dependente e distorcido (porque concentrador de renda) de de-
senvolvimento que se instaura no Brasil, que denominarei modelo de sub-
desenvolvimento industrializado.* O modelo de desenvolvimento concen-
trador de renda correspondia a uma aliana poltica, que denominei pacto
tecnoburocrtico-capitalista.** Dois livros dos anos 70, Estado e subdesen-
volvimento industrializado (1977) e O colapso de uma aliana de classes
(1978), discutem a nova dependncia e o novo pacto poltico. No segundo
livro, entretanto, j examino as bases da ruptura da aliana entre a burgue-
sia e a tecnoburocracia estatal, que prenunciava a profunda crise econmica
dos anos 80, ao mesmo tempo em que marcava o incio da transio para o
regime democrtico, que s se completaria no incio de 1985.
A partir do segundo choque do petrleo em 1979 e do violento aumen-
to das taxas de juros internacionais ocorrido nesse mesmo ano, tem incio a
Grande Crise da economia brasileira a crise dos anos 80. Inicialmente, esta
crise aparece como uma crise da dvida externa. Aos poucos, porm, e prin-
cipalmente s vsperas de minha passagem pelo Ministrio da Fazenda, per-
cebi que se tratava, essencialmente, de uma crise fiscal do Estado. Alguns dias
antes de assumir o ministrio, apresentei em Cambridge o artigo Mudan-
as no padro de financiamento do investimento no Brasil (abril de 1987),
em que assinalo pela primeira vez esse fato. Nos anos seguintes, a partir de
minha experincia no Governo, ampliei a anlise definindo a crise como uma
crise do Estado uma crise fiscal do Estado, uma crise do modo de inter-
* Ver, a respeito, Bresser Pereira (1970, 1973, 1977, 1982). No primeiro artigo cita-
do, analiso a retomada do desenvolvimento a partir de um processo de concentraco de ren-
da da classe mdia para cima; no segundo, defino em termos gerais o novo modelo; s
no terceiro que proponho a expresso subdesenvolvimento industrializado.
** Guilhermo ODonnell (1973) far de forma brilhante a anlise dessa aliana pol-
tica, que ele denominou de pacto burocrtico-autoritrio, em vez de pacto tecnobu-
rocrtico-capitalista.
14 Luiz Carlos Bresser Pereira
veno do Estado na economia e no social e uma crise da forma burocrtica
de administrar esse Estado , esboando a Interpretao da Crise do Esta-
do. Esta interpretao ir se consolidar no meu curto perodo no ministrio
e depois ser desenvolvida em trs livros, dois dos quais publicados no exterior:
A crise do Estado (1992), Reformas econmicas em novas democracias (1993),
com Jos Maria Maravall e Adam Przeworski, e Crise econmica e reforma
do Estado no Brasil (1996), em que a interpretao da crise do Estado rece-
be sua formulao mais acabada. A crise brasileira deixa de ser essencialmente
exgena para se tornar endgena, conseqncia da crise do Estado brasileiro.
Os anos 80 no sero apenas anos de estagnao econmica, sero tam-
bm anos de alta inflao e de tentativas frustradas de estabilizao. No in-
cio dos anos 80, um grupo de economistas brasileiros desenvolver a teoria
bsica dessa elevao alta e persistente dos preos a teoria da inflao
inercial , que ser objeto de um livro meu com Yoshiaki Nakano, Inflao
e recesso (1984) e de muitos artigos e debates.
Trs planos utilizaram explicitamente essa teoria para estabilizar a in-
flao brasileira: o Plano Cruzado (1986), o Plano Bresser (1987) e o Plano
Real (1994). O primeiro fracassou porque foi implementado de forma po-
pulista. O segundo, porque sequer chegou a ser completamente implementado,
dada a falta de apoio poltico. O Plano Real, que finalmente estabilizou a eco-
nomia brasileira em 1994, foi precedido e est sendo complementado por um
conjunto de reformas econmicas ajuste fiscal, liberalizao comercial,
reestruturao das empresas privadas, privatizao das empresas estatais,
reforma da administrao pblica que esto mudando a face do Brasil. Por
meio dessas reformas, o Estado brasileiro est sendo redefinido. Por outro
lado, o Plano Real marcou tambm o provvel final da mais grave crise ja-
mais experienciada pela economia brasileira. Uma crise que manteve a ren-
da por habitante do pas estagnada por 15 anos. Uma crise que exigiu uma
nova interpretao da economia e da sociedade brasileira a Interpretao
da Crise do Estado e aponta para uma nova fase de seu desenvolvimento.
A crise dos anos 80, precisamente porque foi uma crise do Estado, foi
tambm uma crise da esquerda em todo o mundo e da Interpretao da Nova
Dependncia, que a esquerda adotava no Brasil e na Amrica Latina. O cres-
cimento excessivo e distorcido do Estado, a sua crise fiscal, o esgotamento da
industrializao por substituio de importaes e a superao da forma buro-
crtica de administrar o Estado no apenas provocaram a crise econmica dos
anos 80, mas tambm abriram espao para a crtica da direita neoliberal s
formas de interveno do Estado, e para as propostas de reforma orientadas
para o mercado, como o ajuste fiscal, a liberalizao comercial e a privatizao.
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 15
Por outro lado, a globalizao da economia, ou seja, o aumento dram-
tico da competio em nvel internacional a partir da reduo dos custos de
transporte e comunicao, reduziu a capacidade dos estados nacionais de
formular polticas internas e aprofundou a necessidade de reformas que do-
tassem os pases de maior capacidade competitiva.
Essas reformas foram, portanto, uma imposio da crise do Estado e da
globalizao da economia mundial. Foram inicialmente propostas pelos con-
servadores, que no precisaram se atualizar para isto: bastou-lhes lembrar os
velhos princpios liberais. No obstante, um grande esforo de moderniza-
o dessa viso foi realizado pelos intelectuais conservadores neoliberais, par-
ticularmente pelos economistas austracos, pelos monetaristas de Chicago e
pela escola da escolha racional.
A esquerda, inicialmente perplexa, apegou-se a suas velhas idias. En-
tretanto, da mesma forma que, nos anos 30, a crise do mercado obrigou os
conservadores a se reciclarem e a adotarem polticas de interveno do Esta-
do, a crise dos anos 80 est obrigando a esquerda a se modernizar e a pensar
em reformas orientadas para o mercado. Continua esquerda porque conti-
nua disposta a arriscar a ordem em nome da justia e coloca a igualdade e a
melhor distribuio de renda como valores maiores. Continua esquerda por-
que sabe que o mercado insuficiente para coordenar o sistema econmico,
no apenas de forma eficiente, mas tambm eqitativa. Mas est disposta a
adotar reformas orientadas para o mercado, como a liberalizao comercial
e a privatizao. E sabe que o ajuste fiscal uma condio para que o Estado
se fortalea, passe novamente a ter poupana pblica e, assim, recupere au-
tonomia para a execuo de polticas.
A velha esquerda, que no foi capaz de se reciclar, chama todas as re-
formas orientadas para o mercado de reformas neoliberais, quando, na
verdade, so reformas do Estado essenciais para que este possa voltar a ter
um papel positivo no desenvolvimento econmico e social. Enquanto o Es-
tado estiver sem crdito e sem recursos financeiros, no poder executar
polticas. Enquanto no for capaz de definir com clareza qual seu papel no
mundo globalizado dos nossos dias, no poder ter uma ao efetiva e eficaz.
O Estado precisa ser entendido como regulador do sistema econmico
e como provedor de recursos para as atividades que o mercado no capaz
de remunerar adequadamente, e no mais como executor dessas tarefas, que
devem ficar para o setor privado ou para o setor pblico no-estatal.
Para o Brasil, conforme analisamos neste livro, a crise dos anos 80 foi a
Grande Crise. Nunca, em sua histria, o pas havia enfrentado uma crise
econmica to grave. Nunca as taxas de inflao alcanaram nveis to al-
16 Luiz Carlos Bresser Pereira
tos. Nunca a renda por habitante permaneceu estagnada por tantos anos. Na
ltima parte deste livro, que foi acrescentada em sua edio de 1996, anali-
samos essa crise e as reformas que ela propiciou.
Terminada a crise, o Brasil provavelmente voltar a se desenvolver. Mas
no devemos nos iludir. Ser ainda um desenvolvimento distorcido, porque
injusto. Desde os anos 70, vivemos no que costumo chamar de modelo de
subdesenvolvimento industrializado. O Brasil conseguiu industrializar-se,
mas nem por isso deixou de ser subdesenvolvido, marcado por profundos de-
sequilbrios econmicos e sociais.
A partir da Grande Crise dos anos 80, esse modelo perverso de desen-
volvimento perverso porque altamente concentrador de renda vem
sofrendo alteraes. Na medida em que a crise do Estado, que foi a causa
fundamental da Grande Crise, for superada, e o Estado recuperar sua capa-
cidade de poupana, e suas duas novas misses a misso social e a misso
de apoio competitividade internacional se tornarem claras, o subdesen-
volvimento industrializado tender a se tornar menos agressivo, mais madu-
ro e mais democrtico. Mas estaremos ainda longe do desenvolvimento e da
democracia que prevalece nos pases centrais. Estaremos, entretanto, em con-
dies de competir com esses pases e, aos poucos, encontrar tambm nosso
lugar ao sol.
So Paulo, outubro de 1997
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 17
18 Luiz Carlos Bresser Pereira
A VISO GERAL
A economia brasileira um sistema econmico complexo e desequili-
brado, aparentemente muito difcil de ser compreendido. A teoria econmi-
ca, entretanto, permite-nos construir um modelo simplificado desta realida-
de e torn-la compreensvel. Veremos ento que a economia brasileira se
constitui em um sistema, possui uma estrutura. Veremos que as relaes que
existem dentro dela no ocorrem ao acaso, mas obedecem a uma lgica: a
lgica da acumulao capitalista.
Para construirmos esse modelo simplificado da economia brasileira,
vamos usar quatro fontes principais: (1) a teoria econmica clssica de Ricardo
e de Marx; (2) a teoria macroeconmica de Keynes e Kalecki; (3) as anlises
dos principais economistas e socilogos brasileiros; e (4) as teorias recentes
sobre o capitalismo de Estado ou capitalismo tecnoburocrtico.
Por meio dessa anlise, verificaremos que a economia brasileira uma
economia subdesenvolvida, mas que j deixou de ser primrio-exportadora
e tornou-se industrializada. O pas encontra-se, ento, no apenas em uma
situao intermediria entre o desenvolvimento e o subdesenvolvimento, mas,
principalmente, em uma situao contraditria: uma economia subdesen-
volvida industrializada.*
Verificaremos tambm que uma economia capitalista. No incio, foi
uma economia capitalista mercantil-especulativa. Neste sculo, principalmente
a partir de 1930, tornou-se uma economia capitalista industrial. Mas pra-
ticamente saltou a etapa competitiva do capitalismo industrial e tornou-se uma
sociedade capitalista monopolista de Estado, caracterizada pela predominncia
das grandes empresas nacionais e multinacionais e do grande Estado regula-
dor e produtor.
* O carter contraditrio, subdesenvolvido e ao mesmo tempo industrializado, da
economia brasileira uma das idias centrais da teoria da dependncia, cujo livro funda-
mental de Cardoso e Faletto, Dependncia e desenvolvimento na Amrica Latina (1969).
Ver tambm Edmar Bacha (1973), em que ele descreveu o Brasil como uma Belndia
uma mistura de Blgica e ndia , e Bresser Pereira (1973, 1977), que usou originalmente a
expresso subdesenvolvimento industrializado.
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 19
Essa economia e essa sociedade subdesenvolvida mas industrializada,
capitalista mas monopolista e estatal, so marcadas por enormes potenciali-
dades e maiores desequilbrios. A renda extraordinariamente concentrada.
Os ordenados dos altos tecnoburocratas e principalmente os lucros dos ca-
pitalistas so muito grandes, enquanto os salrios dos trabalhadores so muito
baixos. Por outro lado, a economia est sempre ameaada de crise porque a
inflao muito alta, porque a tendncia ao desequilbrio de nossas contas
externas permanente, levando-nos a um endividamento crescente, e porque
o oramento do Estado est sempre em dficit.
Todos esses desequilbrios ocorrem nos quadros de um capitalismo sel-
vagem e freqentemente autoritrio, que obedece lgica da acumulao e
do consumo de luxo; de um capitalismo de Estado em que a tecnoburocracia
, ao mesmo tempo, a grande responsvel pelo desenvolvimento e a grande
co-responsvel (com a burguesia) pelo autoritarismo e pelo consumismo; de
um capitalismo dependente, na qual o surgimento de uma grande classe m-
dia moderna, que reproduz os padres de consumo do centro desenvolvido,
condiciona o tipo de crescimento econmico excludente prprio do modelo
brasileiro de subdesenvolvimento industrializado.
preciso assinalar, por outro lado, que esses desequilbrios so o resul-
tado de um processo real de desenvolvimento em que a acumulao de capi-
tal e o processo tcnico esto continuamente transformando o sistema eco-
nmico, social e poltico brasileiro. Nos ltimos cinqenta anos, especialmente,
no assistimos a um mero processo de crescimento, como aconteceu no pe-
rodo colonial com o ciclo do acar e depois do ouro, mas a um processo
de desenvolvimento capitalista que tende a se tornar auto-sustentado, ainda
que sujeito a graves crises como a atual.
Nesse processo, apesar de toda a concentrao de renda e da margina-
lizao de uma parcela ainda pondervel da populao brasileira (64,4% da
populao ativa recebiam at dois salrios mnimos em 1980), preciso ad-
mitir que os padres de vida mdios melhoraram, ainda que insatisfatoria-
mente, em termos de nveis de salrio, educao, sade, saneamento bsico,
esperana de vida; que a urbanizao continua acelerada; que a taxa de analfa-
betismo, que era de 56,0% em 1940, baixou para 26,1% em 1980, e para
cerca de 15% no final do sculo; que o nmero de matriculados no ensino
secundrio e superior aumentou muito mais rapidamente do que a populao
e que uma imensa camada mdia se formou neste pas, a partir do desenvol-
vimento, de um lado da mdia burguesia proprietria e, de outro, da classe
mdia tecnoburocrtica empregada nas organizaes pblicas e privadas.
A economia brasileira atual fruto de um processo histrico complexo
20 Luiz Carlos Bresser Pereira
que necessita ser periodizado. A periodizao que usaremos neste livro e que
transparecer durante toda a anlise compreende dois grandes perodos: o
perodo do capital mercantil, at 1930, e o perodo do capital industrial, de
1930 em diante. No h um perodo pr-capitalista ou feudal. O perodo do
capital mercantil subdivide-se em perodo colonial, sob a gide do capital
mercantil central, at 1808, e modelo primrio-exportador de subdesenvol-
vimento, sob o domnio do capital industrial central, de 1808 a 1930. O
perodo do capitalismo industrial, por sua vez, divide-se em modelo de in-
dustrializao substitutiva de importaes, entre 1930 e 1954, e modelo de
subdesenvolvimento industrializado, que se sobrepe segunda fase do pro-
cesso de substituio de importaes, iniciando-se em torno de 1954 e con-
solidando-se a partir de 1964.
A periodizao econmica corresponde obviamente a uma periodizao
poltica. O modelo primrio-exportador ocorre nos quadros do Estado oli-
grquico-mercantil, em que a burguesia agrrio-mercantil a classe dominan-
te; o modelo de substituio de importaes corresponde ao Estado populista;
e o modelo de subdesenvolvimento industrializado, ao Estado tecnoburo-
crtico-capitalista, especialmente a partir de 1964. A Revoluo de 1930,
assim como a grande depresso dos anos 30, marca a transio do capital
mercantil para o industrial e do Estado oligrquico-mercantil para a aliana
de setores no-exportadores do latifndio mercantil com a burguesia indus-
trial, as camadas mdias tecnoburocrticas e os trabalhadores urbanos nos
quadros do Estado populista. O suicdio de Getlio Vargas em 1954 foi um
marco significativo para o incio do modelo de subdesenvolvimento indus-
trializado, completado no plano poltico pela Revoluo de 1964, que mar-
cara a aliana da burguesia industrial e mercantil com a tecnoburocracia
pblica e privada, civil e militar, e com as empresas multinacionais, nos qua-
dros de um Estado autoritrio tecnoburocrtico-capitalista. J a partir de
1974, entretanto, o modelo de subdesenvolvimento industrializado entra em
crise. O autoritarismo tecnoburocrtico-capitalista, por sua vez, entra em crise
a partir de 1977, quando se inicia o processo de redemocratizao do pas.
esta economia brasileira, ou, mais amplamente, esta formao social
contraditria e dinmica que examinaremos neste livro, do ponto de vista da
economia poltica. Nosso objeto sempre uma economia capitalista, mas uma
economia que foi mercantil e hoje industrial, que monopolista e estatal,
mas se conserva subdesenvolvida e dependente. Essa sociedade tem sido qua-
se sempre autoritria, mas as perspectivas imediatas de uma democracia, ainda
que burguesa, so reais. Menos imediatas mas concretas so as perspectivas
para o socialismo, que s voltaremos a discutir na concluso deste trabalho.
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 21
22 Luiz Carlos Bresser Pereira
Primeira Parte
AS BASES DO
SUBDESENVOLVIMENTO
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 23
24 Luiz Carlos Bresser Pereira
Captulo 1
SUBDESENVOLVIMENTO E DEPENDNCIA
A economia brasileira subdesenvolvida e dependente. Subdesenvolvi-
mento significa, fundamentalmente, baixa produtividade do trabalho. Signi-
fica que a produo por trabalhador , em mdia, pequena, muito menor do
que a produo por trabalhador nos pases desenvolvidos, sejam eles capita-
listas ou estatais. E se a produo por trabalhador, ou produtividade, bai-
xa, a renda, ou produo por habitante, tambm baixa.
O subdesenvolvimento sempre acompanhado por pobreza, seno mi-
sria, fome, subnutrio, ms condies de sade, por analfabetismo e baixa
qualificao tcnica dos trabalhadores.
Essas caractersticas so ao mesmo tempo conseqncia e causa do sub-
desenvolvimento. No se pense, entretanto, que toda a economia brasileira
seja caracterizada por baixa produtividade e pssimas condies de vida.
A produtividade mdia dos trabalhadores brasileiros baixa, mas no
baixssima. Conforme mostra o Quadro I, a produo por habitante do Brasil
est em posio intermediria entre os pases desenvolvidos e os subdesenvol-
vidos. Somos paradoxalmente um pas subdesenvolvido e industrializado.
Essa produtividade intermediria da economia brasileira , na verdade,
o resultado de uma mdia entre a alta produtividade de um setor capitalista-
monopolista e a baixssima produtividade dos setores marginalizados e pr-
capitalistas da economia brasileira. Na verdade, e como toda sociedade sub-
desenvolvida, a economia brasileira intrinsecamente dual e heterognea.1
O setor moderno, capitalista industrial, utilizando uma tecnologia altamen-
te sofisticada, incapaz de absorver a mo-de-obra abundante que o capita-
lismo mercantil e o clima tropical permitiram aparecer no Brasil. Em conse-
qncia, o subdesenvolvimento brasileiro dual, caracterizado pela hetero-
geneidade estrutural, medida que leva convivncia de um setor de alta pro-
dutividade com outro de produtividade muito baixa.
preciso observar, entretanto, que esse dualismo diverso do ocorrido
nos pases africanos ou asiticos, onde havia anteriormente uma sociedade
pr-capitalista estabelecida, a qual passa a conviver com a sociedade capita-
lista quando nela penetra o capitalismo no sculo XVI (capital mercantil-co-
lonialista) e principalmente no sculo XIX (capital industrial-imperialista).
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 25
No Brasil, como alis na Amrica Latina, as sociedades pr-capitalistas fo-
ram destrudas. Em seu lugar, entretanto, estabelece-se um capitalismo mer-
cantil retrgrado que dificultar a posterior penetrao do capital industrial.
O dualismo brasileiro ser, ento, o produto da coexistncia do capital mer-
cantil, marcado por fortes traos pr-capitalistas, com o capital industrial, e
pela capacidade de este ltimo absorver a abundante fora de trabalho exis-
tente no primeiro.
Quadro I: Produo por Habitante nos
30 Pases Mais Populosos do Mundo, 1994
Pases Populao PIB per capita
(milhes) (US$)
China 1.190,9 530
ndia 913,6 320
Estados Unidos 260,6 25.880
Indonsia 190,4 880
Brasil 159,1 2.970
Rssia 148,3 2.650
Paquisto 126,3 430
Japo 125,0 34.630
Bangladesh 117,9 220
Nigria 108,0 280
Mxico 88,5 4.180
Alemanha 81,5 25.580
Vietn 72,0 200
Filipinas 67,0 950
Ir 62,5 N.D.
Turquia 60,8 2.500
Inglaterra 58,4 18.340
Tailndia 58,0 2.410
Frana 57,9 23.420
Itlia 57,1 19.300
Egito 56,8 720
Etipia 54,9 100
Ucrnia 51,9 1.910
Coria do Sul 44,5 8.260
frica do Sul 40,5 3.040
Espanha 39,1 13.440
Polnia 38,5 2.410
Colmbia 36,3 1.670
Argentina 34,2 8.110
Fonte: World Development Report, 1996.
26 Luiz Carlos Bresser Pereira
O subdesenvolvimento brasileiro assim definido por uma produtivi-
dade do trabalho insuficiente e por uma distribuio dos frutos dessa produ-
tividade ou seja, da renda tambm desigual.2 Isso permite que haja uma
alta burguesia que desfruta de padres de vida incrivelmente altos, e que haja
uma classe mdia de proprietrios burgueses e uma classe mdia de empre-
gados ou funcionrios tecnoburocrticos com um padro de vida elevado,
comparvel ao padro de vida das camadas mdias dos pases desenvolvidos.
H mesmo alguns trabalhadores especializados que j comearam a ter pa-
dres de vida razoveis. Em contrapartida, h uma imensa massa de traba-
lhadores urbanos e rurais que vive em condies estritamente insatisfatrias
seno subumanas.
Subdesenvolvimento no caso da economia brasileira significa, portanto,
uma produtividade mdia ainda baixa, mas que j se aproxima de uma situa-
o intermediria, acompanhada por uma distribuio dos frutos dessa pro-
dutividade extremamente desigual. O pas desenvolve-se, a produtividade au-
menta (o produto interno bruto per capita, medida global de produtividade,
cresceu em 79% entre 1970 e 1980), mas a renda se concentra. Os beneficia-
dos pelo desenvolvimento so muito poucos. Em 1960, os 10% mais ricos da
populao controlavam 39,6% da renda no Brasil; em 1970, essa porcenta-
gem aumentou para 46,7%, e em 1980, para 50,9%. Em 1989, os 20% mais
ricos controlavam 67,5% da renda nacional. Por outro lado, quando compa-
ramos a repartio da renda no Brasil com a dos demais pases desenvolvidos
(e mesmo de alguns subdesenvolvidos), verificamos definitivamente o alto grau
de concentrao de renda existente no pas. De acordo com os dados do Qua-
dro II, o Brasil inclui-se entre os pases de renda mais concentrada do mundo.
O subdesenvolvimento brasileiro, agravado por um alto grau de concen-
trao de renda, resulta em condies de sade da populao extremamente
desfavorveis. Segundo um relatrio do Banco Mundial, as condies gerais
de sade, medidas pela expectativa de vida e pela mortalidade infantil, so piores
no Brasil do que em pases com nveis semelhantes de renda por habitante. A
mortalidade infantil no Brasil, embora declinante, era ainda de 88 por mil em
1980. Um estudo da Organizao Panamericana de Sade revelou que entre
60 e 70% de todas as mortes de crianas menores de 5 anos eram devidas
subnutrio. Um estudo do Governo brasileiro (ENDEF) de 1974/75 revelou
que 21% das crianas abaixo de 18 anos sofrem de subnutrio de segundo e
terceiro grau. No plano da educao, embora os progressos sejam sensveis,
especialmente na rea da educao secundria, cerca de um quarto da popu-
lao ainda analfabeta. No campo do saneamento bsico, tambm os pro-
gressos foram reais. No obstante, em 1980, apenas 38% dos domiclios ur-
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 27
banos eram servidos por rede de esgotos e somente 76% dos domiclios urba-
nos eram abastecidos de gua atravs de rede geral.
Quadro II: Distribuio de Renda em Diversos Pases
40% 40% 20%
Mais Pobre Mdio Mais Rico
Brasil (1989) 7,0 25,7 67,5
frica do Sul (1993) 9,1 27,5 63,3
Chile (1994) 10,1 29,0 61,0
Colmbia (1991) 11,2 33,0 55,8
Mxico (1992) 11,9 32,7 55,3
Nicargua (1993) 12,2 32,6 55,2
Peru (1994) 14,1 35,5 50,4
Nigria (1992) 12,9 37,8 49,3
Bolvia (1990) 15,3 36,5 48,2
Uganda (1992) 17,1 34,8 48,1
Filipinas (1988) 16,6 35,6 47,8
Inglaterra (1988) 14,6 41,1 44,3
Vietn (1993) 19,2 36,8 44,0
China (1992) 16,7 39,4 43,9
ndia (1992) 20,6 36,9 42,6
Frana (1989) 17,4 40,7 41,9
Estados Unidos (1988) 15,7 42,4 41,9
Egito (1991) 21,2 37,7 41,1
Itlia (1986) 18,8 40,2 41,0
Indonsia (1993) 21,0 38,4 40,7
Alemanha (1988) 18,8 41,0 40,3
Pakisto (1991) 21,3 39,1 39,7
Bangladesh (1992) 22,9 39,2 37,9
Japo (1979) 21,9 40,6 37,5
Sucia (1981) 21,2 41,9 36,9
Noruega (1979) 19,0 44,2 36,7
Polnia (1992) 23,1 40,3 36,6
Espanha (1988) 22,0 41,5 36,6
Ucrnia (1992) 23,6 41,0 35,4
Fonte: World Development Report, 1996.
Mas subdesenvolvimento, alm de produtividade insuficiente e de desi-
gual distribuio da renda, implicando analfabetismo e subnutrio para os
trabalhadores, significa tambm dependncia. A economia brasileira e sem-
pre foi uma economia dependente. Ou seja, uma economia sem autonomia
no seu processo de desenvolvimento, uma economia que no controla os re-
cursos fundamentais para que possa aumentar sua produo por habitante.
28 Luiz Carlos Bresser Pereira
O subdesenvolvimento brasileiro, inclusive, s pode ser explicado nos
quadros dessa dependncia. Esta dependncia vem mudando de carter
medida que o pas se desenvolve, mas continua a ser no apenas uma carac-
terstica, mas tambm a causa fundamental do subdesenvolvimento brasileiro.
Em um primeiro momento, a dependncia significava subordinao eco-
nmica e poltica a Portugal nos quadros do sistema colonial. Em um segundo,
subordinao fundamentalmente econmica Inglaterra nos quadros do
modelo primrio-exportador e do velho imperialismo anti-industrializante;
mas, tambm, subordinao cultural aos padres do capitalismo europeu e
depois norte-americano. O terceiro momento, definido pela subordinao aos
Estados Unidos, ocorre depois de uma grande crise do capitalismo mundial,
e marcado pela penetrao das empresas multinacionais industriais. A depen-
dncia torna-se, ento, eminentemente tecnolgica, alm de cultural, medida
que as classes dominantes locais continuam a tentar copiar os padres de
consumo dos pases centrais s custas da impiedosa explorao da grande
maioria da populao. esse ltimo tipo de dependncia, desenvolvimentis-
ta, mas reprodutora dos padres de consumo dos pases desenvolvidos, que
ir presidir a lgica da acumulao e definir o subdesenvolvimento industria-
lizado brasileiro.
Finalmente, em uma quarto momento, a dependncia se transforma em
interdependncia nos quadros do processo de globalizao ou seja, de
aumento dramtico dos fluxos financeiros, das transaes comerciais e dos
investimentos internacionais e, portanto, da competio entre os pases. Neste
novo quadro, a estratgia de superao da dependncia pela proteo da pro-
duo nacional deixa de ser vivel, e o Brasil, como os demais pases em es-
tgio intermedirio de desenvolvimento, no tem outra alternativa seno
competir internacionalmente.
NOTAS
1 O carter dual da economia e da sociedade brasileira foram analisados por pratica-
mente todos os seus principais estudiosos. Destaco, entretanto, as contribuies fundamen-
tais de Igncio Rangel (1957), com A dualidade bsica da economia brasileira e de Jacques
Lambert (1959), com Os dois Brasis.
2 Os autores que estudaram mais agudamente a natureza do subdesenvolvimento bra-
sileiro foram Celso Furtado (1959a, 1961, 1962, 1964, 1966), Igncio Rangel (1957, 1962,
1978, 1981) e Fernando Henrique Cardoso (1972).
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 29
30 Luiz Carlos Bresser Pereira
Captulo 2
AS TEORIAS SOBRE O SUBDESENVOLVIMENTO
Para que possamos entender por que o Brasil um pas subdesenvolvido,
devemos situar a economia brasileira nos quadros da histria e da dependncia.
claro que poderamos querer dar explicaes mais imediatas. Pode-
ramos dizer que o Brasil subdesenvolvido porque seus trabalhadores no
dispem de uma quantidade suficiente de meios de produo (de mquinas
principalmente) para trabalhar. Ou, ento, que no dispem da necessria
soma de conhecimentos tcnicos necessrios a uma alta produtividade. Ou
porque a populao brasileira no s excessiva em relao disponibilida-
de de meios de produo, mas, tambm, cresce a taxas excessivamente ele-
vadas. Falta de capital e falta de tecnologia, entretanto, so causas bvias que,
afinal, nada explicam. O crescimento da populao a taxas muito mais ele-
vadas do que ocorre ou ocorreu nos pases hoje desenvolvidos sem dvida
um obstculo ao desenvolvimento, mas no pode ser considerado uma causa
do subdesenvolvimento. O que preciso saber por que no temos quantidade
suficiente de capital e de tecnologia por trabalhador e por que a populao
brasileira cresce a taxas que dificultam o processo de desenvolvimento.1
H algumas teorias para explicar o nosso subdesenvolvimento j muito
desmoralizadas, mas que devem ser lembradas. So explicaes tolas, pro-
duto de um arraigado complexo de inferioridade colonial e da necessidade
de as classes dominantes justificarem o status quo, a situao estabelecida.
Por isso, acabam sempre ressurgindo sob os mais variados disfarces. Refiro-
me s explicaes climticas (o Brasil um pas tropical...), s explicaes
raciais (o Brasil um pas mestio...), s explicaes culturais (o Brasil um
pas latino e no anglo-saxo ou japons...), s explicaes geogrficas (o Brasil
no tem petrleo ou no tem ferro perto de carvo...).
Descartadas essas explicaes ridculas e aquelas explicaes bvias mas
que nada informam (falta de capital e de tecnologia), existe ainda uma ex-
plicao conservadora, a chamada teoria da modernizao. O Brasil teria
uma economia subdesenvolvida porque tradicional, pr-capitalista, feudal,
semifeudal. Porque sua populao no pensa em termos capitalistas, no se
preocupa com produtividade, com mecanizao de lucros, com investimen-
tos produtivos. A sociedade brasileira seria dual: um setor tradicional, pr-
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 31
capitalista e um setor moderno, capitalista. O peso do setor tradicional, en-
tretanto, seria to grande que impediria o desenvolvimento do capitalismo
neste pas.
Essa teoria, muito em moda entre as mentalidades conservadoras, subs-
tituiu as antigas explicaes culturais hoje desmoralizadas. Seu carter ideo-
lgico evidente. O Brasil seria subdesenvolvido por falta de capitalismo,
quando ns sabemos muito bem que capitalismo algo que no faltou ja-
mais neste pas. O modelo seriam os pases capitalistas adiantados, moder-
nos. Como nossa economia deveria ser igual deles, falta-lhe capitalismo,
dual, tradicional.
Os defensores dessa explicao acabam propondo como soluo para
os problemas do nosso subdesenvolvimento um amplo trabalho de educa-
o, atravs do qual se modernizariam as populaes tradicionais, que as-
sim seriam convencidas a trabalhar com mais afinco, a poupar, a saber que
tempo dinheiro, e que possvel fazer-se por si mesmo desde que se
trabalhe. A ideologia do capitalismo individualista, baseada no lucro e
na hiptese da mobilidade social , assim, transplantada para o Brasil da
maneira mais elementar.
No extremo oposto, existe a teoria do imperialismo. Se para a teo-
ria da modernizao o problema do Brasil falta de capitalismo, para a teo-
ria do imperialismo o Brasil seria subdesenvolvido porque foi permanente-
mente explorado pelos pases capitalistas imperialistas. A totalidade ou gran-
de parte do excedente econmico (ou seja, da produo que excede o con-
sumo necessrio dos trabalhadores) que o Brasil produz ou produziu foi sem-
pre e sistematicamente transferida para a metrpole: primeiro para Portu-
gal, depois para a Inglaterra e, afinal, para os Estados Unidos. Por isso se-
ramos subdesenvolvidos.2
Embora essa explicao esteja mais prxima da realidade, ela tambm
inaceitvel. Sem dvida, o Brasil foi sempre explorado pelas potncias me-
tropolitanas. Mas, se excluirmos Portugal, que era ele prprio uma metr-
pole subdesenvolvida, veremos que, quando os pases hoje desenvolvidos,
Inglaterra, Frana e Estados Unidos, em fins do sculo XVIII ou comeo do
sculo XIX, realizavam sua Revoluo Industrial e completaram a Revolu-
o Capitalista, o Brasil j estava muito atrasado. Sua renda por habitante
era muito inferior daqueles pases. Sua tecnologia, muito menos desenvol-
vida. Depois a economia brasileira entrou em contato com aqueles pases, de-
senvolveu-se e ao mesmo tempo foi explorada. E o atraso, se no se apro-
fundou, manteve-se no mesmo nvel, enquanto outros pases, como a Alema-
nha, o Japo e a Rssia, desenvolviam-se.3
32 Luiz Carlos Bresser Pereira
Na verdade, s possvel compreender o subdesenvolvimento brasilei-
ro no plano da histria. Em vez da teoria da modernizao ou da teoria do
imperialismo, o que necessitamos de uma teoria histrica do subdesenvol-
vimento. Esta teoria dever partir da distino entre o capital mercantil e o
capital industrial, e procurar compreender por que no Brasil, como alis em
toda a Amrica Latina, o capital mercantil permaneceu to longamente do-
minante, dificultando a emergncia do capital industrial.4
Por outro lado, o capital industrial, ao penetrar tardiamente na econo-
mia capitalista mercantil brasileira (alis, marcada por fortes traos pr-ca-
pitalistas), ir encontrar no s fortes obstculos da parte das estruturas
mercantis e pr-capitalistas, mas tambm se revelar incapaz de absorver a
fora de trabalho abundante que o capital mercantil gerou durante quatro
sculos. O capital industrial insuficiente e a tecnologia poupadora de mo-
de-obra empregada penetraro, ento, como uma cunha na sociedade capi-
talista mercantil formando uma sociedade dualista e subdesenvolvida. Na ver-
dade, o capital industrial penetra no Brasil em duas grandes ondas. A pri-
meira, gerada aqui mesmo, tem suas primeiras manifestaes no final do s-
culo passado e seu grande desenvolvimento a partir dos anos 30. o capital
local e competitivo. A segunda, marcada por forte componente de capital
estatal e de capital multinacional, ocorrer nos anos 50. o capital mo-
nopolista. Em ambos os casos, a economia ser marcada por uma heteroge-
neidade estrutural que definir a prpria condio do subdesenvolvimento.5
NOTAS
1 Realizei uma ampla anlise das interpretaes econmicas e polticas sobre o Brasil
em Interpretaes sobre o Brasil (Bresser Pereira, 1997a), onde esto analisadas duas in-
terpretaes anteriores crise do incio dos anos 60 e ao golpe militar de 1964, quatro do
perodo entre 1964 e a grande crise dos anos 80, e trs contemporneas. As duas primeiras
interpretaes esto essencialmente preocupadas com as causas do subdesenvolvimento, a
interpretao da vocao agrria relacionada com a teoria da modernizao, enquanto a in-
terpretao nacional-desenvolvimentista atribui o atraso econmico brasileiro principalmente
ao imperialismo.
2 Para uma crtica recente da interpretao imperialista do subdesenvolvimento brasi-
leiro, ver O conceito de pr-requisitos para a industrializao, de Robert C. Nicol (1997).
Este trabalho tem como origem a tese de doutoramento no-publicada do autor, A agricul-
tura e a industrializao no Brasil (1974).
3 O livro mais importante sobre a histria econmica do Brasil ainda o de Celso
Furtado, Formao econmica do Brasil. So ainda importantes a Histria econmica do
Brasil, de Caio Prado Jr. (1945); Evoluo industrial de So Paulo (1954) e Formao in-
dustrial do Brasil: Perodo Colonial (1961), de Heitor Ferreira Lima; A luta pela industria-
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 33
lizao do Brasil, de Ncia Vilela (1961); Poltica do Governo e crescimento da economia
brasileira, de Anbal Villela e Wilson Suzigan (1973); Expanso cafeeira e origens da inds-
tria no Brasil, de Srgio Silva (1976); A industrializao de So Paulo, de Warren Dean (1971);
Formao econmica do Brasil, de Versiani e Mendona de Barros (orgs.) (1977); Indstria
brasileira: origem e desenvolvimento, de Wilson Suzigan (1986), e Ordem e progresso, or-
ganizado por Marcelo Paiva Abreu (1990). No esquecer o livro clssico de Roberto Simonsen,
Histria econmica do Brasil 1500-1820 (1937).
4 Os trs primeiros captulos da Histria econmica do Brasil, de Caio Prado Jr. (1945)
nos sugerem a causa fundamental do subdesenvolvimento brasileiro: o carter mercantil da
colonizao brasileira em contraste com a colonizao de povoamento que foi dominante
no norte dos Estados Unidos (Nova Inglaterra). O Brasil, como uma regio complementar
do ponto de vista climtico em relao Europa, adaptava-se a uma colonizao mercantil
ou de explorao capitalista, baseada no latifndio ou na plantation, que, conforme prin-
cipalmente Celso Furtado demonstrou nos livros j citados, no propiciava o aumento da
produtividade e, portanto, um desenvolvimento sustentado.
5 Examinei o desenvolvimento do Brasil entre 1930 e a crise dos anos 80 em Desen-
volvimento e crise no Brasil 1930-1983 (Bresser Pereira, 1984). A grande crise dos anos
80 e o desenvolvimento posterior foram por mim analisados principalmente em Crise eco-
nmica e reforma do Estado no Brasil (1996). Os dois livros complementam-se, portanto,
no plano histrico.
34 Luiz Carlos Bresser Pereira
Captulo 3
CAPITAL MERCANTIL E ACUMULAO PRIMITIVA
O Brasil sempre foi um pas capitalista. As teorias que pretendem ver
no Brasil colonial e no perodo imperial a predominncia do modo de pro-
duo feudal, ou ento do modo de produo escravista, so absolutamente
insustentveis. Desde o incio da colonizao, o Brasil foi tratado como uma
empresa comercial. Caio Prado Jr. (1945) deixou muito claro este fato nos
primeiros captulos de sua Histria econmica do Brasil.
Sem dvida, podemos encontrar traos de modos de produo pr-capi-
talista no Brasil. Portugal foi a primeira nao europia a realizar uma esp-
cie de revoluo burguesa, mas jamais a completou. Durante todo o perodo
colonial brasileiro, Portugal conservou fortes traos do seu passado feudal.
natural, portanto, que o latifndio brasileiro tambm conservasse internamente
certas caractersticas do feudo: auto-suficincia, poder absoluto do senhor,
sistema de agregados, prevalncia de uma ideologia aristocrtica. Mas o ca-
rter fundamental do latifndio capitalista. O objetivo o lucro atravs da
colocao do acar no mercado internacional. A forma de realiz-lo a cha-
mada acumulao primitiva, que Marx descreveu to bem no captulo XXIV
do Livro I de O capital. O trabalho escravo, que levou alguns a ver escravismo
no Brasil, no passou de uma forma, por excelncia, atravs da qual a bur-
guesia mercantil se apropriou do excedente nos quadros do processo de acumu-
lao primitiva, porque acumulao primitiva no outra coisa seno to-
das as formas mais ou menos violentas que a burguesia utilizou inicialmente
para extrair e acumular excedente, inclusive a especulao mercantil. S de-
pois de realizar a acumulao primitiva e j de posse de um capital inicial foi
possvel burguesia extrair excedente atravs do mecanismo da mais-valia,
que pressupe, alm de capital, trabalho assalariado e troca de equivalentes.
O Brasil foi, portanto, sempre e predominantemente capitalista, mas h
duas formas de capitalismo histrica e conceitualmente distintas: o capita-
lismo mercantil ou especulativo, e o capitalismo industrial ou capitalismo
propriamente dito.1
Os pases que se desenvolveram foram aqueles que ultrapassaram a fase
de predomnio do capital mercantil mais cedo. No Brasil, o capital mercan-
til, controlado atravs de uma associao da oligarquia agrrio-mercantil local,
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 35
primeiro com o colonialismo portugus e depois com o imperialismo brit-
nico, prevaleceu de forma decisiva at pelo menos 1930. Por isso, o Brasil
permaneceu subdesenvolvido. O subdesenvolvimento brasileiro est indis-
soluvelmente ligado predominncia do capital mercantil na economia bra-
sileira durante um longo perodo em que outros pases, a comear pela In-
glaterra em torno de 1760, e depois a Frana e os Estados Unidos, no incio
do sculo XIX, passavam para o domnio do capital industrial.
O capitalismo mercantil uma formao social historicamente situada,
na qual a apropriao do excedente realizada pela burguesia por meio de
formas violentas ou especulativas, e no por meio do mecanismo da mais-valia,
que prprio do capitalismo industrial. O capital mercantil a forma origi-
nal que assume o capitalismo. Seu mecanismo mais tpico de apropriao do
excedente o comrcio especulativo de longa distncia. medida que os mer-
cadores eram capazes de comprar em um lugar e vender suas mercadorias muito
longe dali, eles logravam um monoplio sobre aquelas mercadorias que lhes
permitia vend-las por um preo muito mais alto do que seu valor-trabalho.
O valor de uma mercadoria, conforme descobriram os economistas po-
lticos clssicos, correspondente quantidade mdia de trabalho nela in-
corporado. O preo em moeda de uma mercadoria deve ser, em princpio,
correspondente ao seu valor, com a correo necessria para a equalizao
da taxa de lucro.
No capitalismo mercantil, entretanto, o preo descola-se inteiramente
do valor, e atravs dessa diferena que o mercador se apropria privadamente
do excedente, ou seja, do produto que excede o consumo necessrio sobre-
vivncia e reproduo dos trabalhadores.
Nos modos pr-capitalistas de produo, as aristocracias dominantes
apropriavam-se do excedente econmico sob diversas formas. No modo asi-
tico de produo, que caracterizou todas as grandes civilizaes hidrulicas
da Antigidade (Egito, China, ndia, Mesopotmia), tnhamos os tributos e
secundariamente o trabalho escravo. No escravismo grego e romano, o tra-
balho escravo. No feudalismo, a corvia (obrigao de trabalhar alguns dias
por semana gratuitamente para o senhor) era a forma mais tpica de apro-
priao do excedente. Mas em todas elas o trao comum ser a violncia ou
a ameaa aberta de violncia como forma de obrigar os trabalhadores a ce-
der o excedente produzido.
No capitalismo mercantil, a burguesia apropria-se do excedente atra-
vs dessa forma disfarada de violncia que a especulao, o lucro mercan-
til, a venda por um preo descolado do valor. Mas a burguesia, no seu pro-
cesso de acumulao primitiva, tambm usa de mtodos diretamente violen-
36 Luiz Carlos Bresser Pereira
tos, como a expropriao das terras dos camponeses, a pirataria, a tributa-
o, a inflao e o estabelecimento de monoplios oficiais.
O capital mercantil, em princpio, no interfere na produo. Esta con-
tinua pr-capitalista. Mas nas colnias, quando no h uma produo pr-
capitalista organizada, no h outra alternativa seno organizar diretamen-
te a produo. nesse momento que surge o escravismo mercantil, que ob-
viamente nada tem a ver com o escravismo da Antigidade clssica. Ao pro-
curar organizar a produo atravs do trabalho escravo, entretanto, o capi-
tal mercantil conserva os vcios originados da apropriao especulativa do
excedente. Seu lucro deve derivar da super-explorao dos escravos e da di-
ferena estrutural entre valor e preo que as largas distncias do comrcio
internacional permitem. No faz parte do clculo econmico do capitalista
mercantil que o aumento sistemtico da produtividade e a permanente incor-
porao do progresso tcnico ao processo de produo possam e devam ser
o caminho mais adequado para a extrao do excedente econmico. Isto s
ser percebido mais tarde pelos capitalistas industriais.
Em conseqncia, o Brasil continua, at o incio deste sculo, produzindo
em termos absolutamente tradicionais. No houve, por exemplo, nenhum
progresso tcnico significativo na agricultura do caf entre 1830 e 1930. O
Brasil desenvolvia-se, aumentava sua produo por habitante medida que
se especializava na produo de um bem mais rentvel, o caf, no medida
que aumentava a produtividade.
O capital mercantil, o mecanismo de acumulao primitiva e o modelo
primrio-exportador, que nos reduzia a meros exportadores de produtos pri-
mrios, esto assim indissoluvelmente ligados. E constituem a causa fundamental
do nosso subdesenvolvimento. O capital mercantil proporcionou economia
dois auges no perodo colonial, mas foram momentos efmeros, j que no es-
tavam baseados em ganhos de produtividade. Em 1650, tivemos o auge da cana-
de-accar; em 1750, o auge do ouro. Em seguida, a retrao secular. Entre 1750
e 1850, a economia brasileira no est apenas estacionada. Ela regride. S a partir
dessa poca o caf proporciona uma espcie de desenvolvimento, mas mui-
to parcial, que, conforme demonstrou Celso Furtado, moderniza os padres de
consumo da elite dominante, mas no promove o desenvolvimento das foras
produtivas, ou seja, a incorporao de progresso tcnico. De 1850 at 1930, a
renda por habitante cresce, medida que o pas se especializa na produo de
caf, mas o capital mercantil continua dominante, o capital industrial pouco
se desenvolve. O atraso do Brasil em relao aos pases industrializados no se
reduz, mas se aprofunda. A populao continua crescendo sem que a produ-
tividade dos trabalhadores aumente. Define-se o subdesenvolvimento brasileiro.
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 37
NOTA
1 Caio Prado Jr., que em dois livros clssicos (1942 e 1945) analisou o carter mer-
cantil da colonizao brasileira, radicalizou de forma equivocada sua anlise em A revolu-
o brasileira (1966), em que recusou a existncia de uma burguesia industrial no pas e afir-
mou que o Brasil continuava, ainda nos anos 60, dominado pelo capitalismo mercantil. Dessa
forma, ele procurava criticar intelectuais de esquerda ligados ao partido comunista, como
Nelson Wernek Sodr (1964), ou ligados ao Instituto Superior de Estudos Brasileiros, como
Igncio Rangel e Hlio Jaguaribe (1958, 1962), ou ainda CEPAL Comisso Econmica
para a Amrica Latina , das Naes Unidas, como Celso Furtado, que verificaram a exis-
tncia de uma aliana poltica dessa natureza entre 1930 e 1960. Sobre o tema, ver Bresser
Pereira (1997).
38 Luiz Carlos Bresser Pereira
Segunda Parte
A LGICA DA ACUMULAO
INDUSTRIAL: 1930-1980
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 39
40 Luiz Carlos Bresser Pereira
Captulo 4
CAPITAL INDUSTRIAL E MAIS-VALIA
Desde o final do sculo XIX, entretanto, o Brasil e principalmente So
Paulo comeam a industrializar-se. O caf era, ao mesmo tempo, o grande
propulsor da industrializao, medida que proporcionava capital e merca-
do para a indstria, e o grande obstculo. A oligarquia agrrio-mercantil,
especulativa, incapaz de pensar em termos de aumento da produtividade, era
e foi incapaz de realizar a industrializao brasileira (conforme demonstrei
na pesquisa sobre as origens tnicas e sociais dos empresrios paulistas). Esta
s a prejudicava medida que qualquer processo de industrializao depen-
dia da proteo do Estado, inclusive a proteo alfandegria, que implicaria
transferncia de renda para os novos industriais. Ora, a renda a ser transferida
s poderia ter origem no setor exportador da economia. Diante desse fato, a
oligarquia agrrio-mercantil, formada por grandes fazendeiros e grandes
comerciantes, aliava-se ao imperialismo em sua oposio industrializao.
Apesar de tudo, entretanto, a Revoluo Industrial ocorreu no Brasil,
principalmente a partir de 1930. A industrializao ocorrida anteriormente
teve sua importncia, mas foi marginal, no apenas porque o seu grau de
integrao inter-industrial era muito pequeno, mas tambm porque o dom-
nio poltico estava inteiramente nas mos da oligarquia cafeeira.1 A Revo-
luo Industrial brasileira foi realizada por imigrantes e seus descendentes
e no pela oligarquia agrrio-mercantil, muito menos pelo capital estrangei-
ro. Este, na rea industrial, s viria a se instalar no Brasil bem mais tarde, a
partir de 1950.
A industrializao acelerou-se a partir de 1930, transformando o perodo
1930-1960 em nossa revoluo industrial substitutiva de importaes. Suas
causas mais gerais foram a crise por que passava o sistema capitalista inter-
nacional e a decadncia poltica da burguesia mercantil. Dessa forma, era o
prprio pacto entre o imperialismo e a oligarquia que entrava em colapso,
abrindo espao para o desenvolvimento do capital industrial. A Revoluo
de 1930 foi o primeiro captulo desse processo.
O resultado foi a transformao do Brasil em um pas em que o modo
capitalista de produo propriamente dito, ou seja, o capitalismo industrial,
tornou-se dominante.
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 41
O que significa ser o Brasil uma formao social dominantemente capi-
talista? Para responder a esta questo, necessrio examinar as caractersti-
cas do modo especificamente capitalista de produo, que surge inicialmen-
te na Inglaterra, e depois no resto da Europa e nos Estados Unidos, com a
Revoluo Industrial.
Modo capitalista de produo significa em primeiro lugar propriedade
privada dos meios de produo, generalizao da mercadoria, concorrncia,
trabalho assalariado, apropriao do excedente pelo mecanismo da mais-valia,
acumulao de capital, incorporao automtica de progresso tcnico, desen-
volvimento econmico e concentrao da renda nos quadros de uma demo-
cracia burguesa limitada, sempre pronta a transformar-se em regime autori-
trio. Em segundo lugar, significa concentrao de capital, monopolizao
ou oligopolizao de um nmero crescente de atividades econmicas, forma-
o de um Estado cada vez mais poderoso, surgimento de uma tecnoburocracia
no mbito das grandes empresas e do grande Estado produtor e regulador.
Mas estas ltimas caractersticas j so o resultado da transformao de ca-
pitalismo clssico, puro, em capitalismo monopolista de Estado, tecnobu-
rocrtico. Veremos neste captulo apenas as caractersticas do capitalismo
clssico, tendo como referncia a economia brasileira.
Generalizao da mercadoria. No capitalismo, todos os bens transformam-
se em mercadorias, ou seja, em bens com valor de troca, destinados ao merca-
do. Nas formaes sociais pr-capitalistas, a produo para o autoconsumo,
tambm chamada economia de subsistncia, dominante. As mercadorias
constituem exceo. No capitalismo, tudo transformado em mercadoria.
No Brasil colonial e primrio-exportador, em que o capital mercantil
dominante, apenas os bens destinados exportao o acar principalmente
so mercadorias. O grosso dos bens produzidos para consumo interno no
so mercadorias porque so produo para autoconsumo, seja nos minifndios
de subsistncia, seja nos grandes latifndios. Esses latifndios, alis, so capi-
talistas externamente porque produzem mercadorias para exportaes, ob-
jetivando o lucro; so semifeudais internamente, porque auto-suficientes, ou
quase, na produo para consumo interno. Foi a partir dessa verificao que
Igncio Rangel falou em dualidade bsica, intrnseca, da economia brasi-
leira. Em vez de termos uma dualidade por justaposio de um setor moder-
no e um setor tradicional, temos o moderno e o tradicional, o capitalista e o
pr-capitalista convivendo contraditoriamente na mesma unidade bsica de
produo do Brasil colonial e depois primrio-exportador: o latifndio.
s a partir de 1930 que a mercadoria comea a se generalizar no Bra-
sil, liquidando paulatinamente a produo para autoconsumo. Esse processo
42 Luiz Carlos Bresser Pereira
se acelera nos anos 50 e 60, especialmente no Sul do pas. Uma srie de estu-
dos fala, ento, do capitalismo no campo, deixando claro que antes no era
exatamente o capital industrial (a expresso industrial tem aqui um sen-
tido amplo, abrangendo qualquer capital que extraia mais-valia relativa, in-
corporando sistematicamente progresso tcnico produo), mas o capital
mercantil e formas pr-capitalistas que dominavam a produo agrcola brasi-
leira. E ainda nos anos 80 existem resqucios da produo para o autocon-
sumo, principalmente nas regies mais atrasadas do Brasil, como o Nordeste.
O trabalho assalariado um aspecto do processo de generalizao de
mercadorias; uma caracterstica histrica essencial do capitalismo. Nas
formaes pr-capitalistas, o escravo produzia para o senhor, mas sob coa-
o; o servo tambm produzia para o senhor, atravs do pagamento da corvia
(determinado nmero de dias por semana de trabalho grtis para o senhor)
sob coao fsica e moral; o campons era produtor autnomo, produzindo
para autoconsumo, realizando uma eventual venda das sobras no mercado
local. s no capitalismo que o trabalho se transforma em fora de traba-
lho, vendida livremente pelo trabalhador ao capitalista em troca de um
salrio o preo da mercadoria fora de trabalho.
Esse salrio tem um preo regulado pela mesma lei que rege o preo das
demais mercadorias: o valor-trabalho, ou seja, a quantidade de trabalho in-
corporado na produo do bem.
Valor-Trabalho. O capitalismo uma economia de mercado, ou seja,
uma economia de mercadorias regulada pelo sistema de preos. So os pre-
os que determinam no s a distribuio de renda entre capitalistas e tra-
balhadores, mas tambm a alocao de recursos entre os diversos setores da
economia.
Se o preo da mercadoria fora de trabalho (salrios) aumentar, os lu-
cros dos capitalistas diminuiro (considerada constante a produtividade) e
vice-versa. Por outro lado, se os preos de determinada mercadoria forem
momentaneamente superiores ao seu valor, os lucros sero elevados naquele
setor. Em conseqncia, os meios de produo e a fora de trabalho tende-
ro a ser alocados, ou seja, a sua aplicao ser orientada para aquele setor
cujos preos esto acima do valor.
A teoria econmica ortodoxa ou neoclssica e o saber convencional
imaginam que os preos so determinados pela oferta e a procura. Nada mais
errneo. Embora a oferta e a procura sejam tambm importante para ga-
rantir que o preo das mercadorias gire em torno de seu valor, preos das
mercadorias correspondem basicamente ao seu valor-trabalho, ou seja,
quantidade de trabalho direto e indireto socialmente necessria para a produ-
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 43
o daquele bem. Deve-se pensar em trabalho abstrato mdio, que homo-
geinize as diferentes especializaes e capacitaes individuais. No trabalho
indireto, esto considerados os valores das matrias-primas e a depreciao
das mquinas.
Por meio da quantidade de trabalho incorporado em cada bem, pode-
mos conhecer o seu valor relativo, ou seja, o seu valor em comparao com
o de outros bens. E o preo da mercadoria girar em torno do valor, de acordo
com a oferta e a procura e a necessidade de equalizar as taxas de lucro entre
todos os setores da economia. A oferta e a procura no podem, portanto,
violentar o valor, afastar-se muito e por muito tempo do valor-trabalho da
mercadoria, a no ser que se trate de uma raridade, de um bem que no pode
ser reproduzido pelo trabalho.
A equalizao da taxa de lucro uma condio de equilbrio do siste-
ma econmico capitalista competitivo. Enquanto houver setores mais lucra-
tivos do que outros, o capital e o trabalho estaro movimentando-se em sua
direo, abandonando os setores menos lucrativos. A mobilidade do capital
e do trabalho far com que aumente a oferta de bens naqueles setores mais
lucrativos, provocando a baixa dos preos at o ponto em que a taxa de lu-
cro se equalize entre os setores. S nesse momento terico o sistema econ-
mico estar em equilbrio.
O capital industrial, competitivo, caracterizado pelo fato de que todo
bem vendido pelo seu valor depois de devidamente transformado em preo
via equalizao das taxas de lucro. O valor e o preo das mercadorias s di-
minuem quando aumenta a produtividade, diminuindo a quantidade de tra-
balho incorporado em cada bem.
J no capitalismo mercantil, os comerciantes de larga distncia (merca-
dores) vendem seus bens por um preo descolado do valor, derivando da seu
lucro. Aproveitam de sua posio de monoplio. O mesmo acontecer mais
tarde com as grandes empresas monopolistas, geralmente transnacionais, do
sculo XX.
Trabalho Assalariado. O salrio o preo da mercadoria fora de tra-
balho. Isto significa que deve ser equivalente quantidade de trabalho ne-
cessria para produzir os bens necessrios sobrevivncia e reproduo dos
trabalhadores, ou seja, deve ser equivalente ao custo de reproduo da mo-
de-obra. A transio do feudalismo para o capitalismo marcada pela trans-
formao do trabalho em uma mercadoria (fora de trabalho) e, portanto,
pelo surgimento do trabalho assalariado. S mais tarde, na transio do ca-
pitalismo competitivo para o capitalismo monopolista, com o aparecimento
dos sindicatos e dos partidos polticos populares, o salrio comear a des-
44 Luiz Carlos Bresser Pereira
colar-se do custo de reproduo da fora de trabalho e aumentar de acordo
com o aumento da produtividade.
No Brasil, o trabalho assalariado comea a se tornar significativo a partir
da abolio da escravatura, em 1888, ou um pouco antes, com os imigrantes.
Por isso, alguns autores pretendem que o capital industrial j se torna domi-
nante no Brasil a partir dessa poca. um exagero. De fato, o trabalho assa-
lariado urbano engatinha nesse perodo. E quase inexistente no campo, a
no ser que ampliemos o conceito de trabalho assalariado para as formas de
parceria (meia, tera), em que o colono fica com determinada parte da pro-
duo. Mesmo nesse caso, entretanto, o trabalho assalariado continua a ex-
ceo. S se transformar em regra a partir dos anos 30, seno dos anos 50.
O quadro do capitalismo brasileiro, em sua forma clssica, competiti-
va, completa-se com a predominncia da mais-valia como forma de apropria-
o do excedente.
No Brasil, a apropriao do excedente atravs do mecanismo da mais-
valia torna-se dominante com a generalizao da mercadoria e do trabalho
assalariado. , portanto, um fato recente historicamente. Tornou-se domi-
nante nas cidades a partir dos anos 30, e no campo, provavelmente, s a partir
dos anos 50 ou 60 no Sul do Brasil.
um fato recente, mas incompleto. As formas mercantis de apropria-
o do excedente o lucro especulativo e as formas violentas de acumula-
o primitiva continuam presentes e atuantes no Brasil. Em muitas reas
do pas, o lucro mercantil, fruto da especulao e do poder de monoplio de
grandes comerciantes intermedirios, atravessadores de todos os tipos, con-
tinua uma realidade. Por outro lado, a acumulao primitiva toma hoje duas
formas principais: privadamente, atravs da expropriao dos posseiros (os
camponeses brasileiros); publicamente, por meio da montagem pelo Esta-
do de um extenso sistema de subsdios ou estmulos creditcios e fiscais acu-
mulao capitalista, que no passam de uma forma de apropriao violenta
de excedente por alguns privilegiados, em nome do desenvolvimento nacio-
nal, da necessidade de promover ora a indstria, ora a agricultura.
A apropriao do excedente por meio do mecanismo clssico da mais-
valia, nos quadros do capitalismo competitivo, no chegou a se completar
no Brasil, e jamais chegar, porque, antes que isso comeasse a ocorrer, as
formas monopolistas de apropriao do excedente passaram tambm a ocorrer
no pas, alm de se manterem e se desenvolverem as formas de acumulao
primitiva j referidas, especialmente aquelas apoiadas nos favores do Estado.
Hoje no Brasil, da mesma forma que nos pases capitalistas desenvolvi-
dos, j no se fala mais em acumulanao primitiva, j que esta j se realizou,
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 45
mas nem por isso deixaram de existir formas de apropriao do excedente
fora dos mecanismos de mercado. De um lado, temos, naturalmente, as for-
mas de banditismo ou de mfia, operando principalmente no campo das dro-
gas. De outro, nas diversas formas atravs das quais grupos e indivduos pri-
vados poderosos procuram se apropriar do patrimnio pblico atravs no
apenas de formas de corrupo pura e simples, mas tambm atravs de for-
mas mais sofisticadas de captura ou de privatizao do Estado. So capita-
listas que obtm subsdios e isenes injustificveis, so polticos que se de-
dicam ao clientelismo e ao nepotismo, so funcionrios pblicos que rece-
bem remunerao sem qualquer relao com seu trabalho ou aposentadorias
e penses sem qualquer base em suas contribuies. Dessa forma, o direito
republicano que cada cidado tem de que o patrimnio pblico a res pu-
blica seja de fato mantido pblico violentado.2
NOTAS
1 Joo Manoel Cardoso de Mello, na linha das idias propostas por Caio Prado Jr. em
A revoluo brasileira, procurou reduzir a importncia da revoluo de 30 e da aliana que
se estabelece a partir de ento entre a burguesia industrial, a burocracia estatal e as esquer-
das, e situou a revoluo industrial brasileira no em 1930, mas no final do sculo XIX. De
fato, a industrializao paulista comea nessa poca, mas s ganhar momentum, a ponto
de se constituir em uma espcie de revoluo industrial, a partir de 1930.
2 Sobre o tema, ver Bresser Pereira (1997a), Cidadania e res publica: a emergncia
dos direitos republicanos. Existe uma ampla literatura conservadora, mas muito importante,
sobre o problema, utilizando o conceito de rent-seeking a captura do patrimnio p-
blico atravs da busca de rendas extra-mercado utilizando-se do poder do Estado. Seus au-
tores, liderados por James Buchanan em Mancur Olson, pertencem escola da escolha
racional.
46 Luiz Carlos Bresser Pereira
Captulo 5
CAPITALISMO MONOPOLISTA
A formao social brasileira no apenas capitalista. capitalista mono-
polista. Na economia brasileira, jamais se constituiu o modelo do capitalis-
mo puro, competitivo, que dominou a Inglaterra e os Estado Unidos em mea-
dos do sculo XIX.1
Talvez esse capitalismo puro, que Marx conheceu e descreveu, tenha sido
uma exceo histrica. J no seu tempo, formas monopolista de apropria-
o do excedente comeavam a se manifestar, atravs dos processos de con-
centrao (em mos de poucos capitalistas) e centralizao (fuso de empre-
sas para formao de grandes unidades produtivo-financeiras) do capital.
Em todos os pases em que o capitalismo foi tardio, seu desenvolvimen-
to j ocorreu de forma monopolista. o caso clssico da Alemanha e do Ja-
po. Ser tambm, especialmente a partir dos anos 50, o caso do Brasil. Para
se desenvolver tardiamente, depois que a Inglaterra e os Estados Unidos se
haviam desenvolvido, Gerschenkron demonstrou que foi necessria a inter-
veno crescente de grandes bancos de investimentos e do Estado. Ora, tan-
to os grandes bancos quanto o Estado s estavam dispostos a financiar e, at
certo ponto, s tinham condies administrativas de financiar grandes ca-
pitalistas. Esta uma primeira causa da concentrao e centralizao do
capital: o financiamento dos grandes bancos de investimento e principalmente
do Estado.
A formao do capitalismo monopolista, entretanto, tem outras causas.
As economias de escala (ou de dimenso) existentes em certas atividades in-
dustriais e de servios uma delas. Em certos setores, como na indstria si-
derrgica, nas indstrias de matrias-primas em geral e na indstria automo-
bilstica, as vantagens em termos de custos ou produtividade de fbricas muito
grandes so decisivas. O mesmo acontece na produo de energia eltrica,
na explorao e comercializao de petrleo.
Mas, mesmo que no haja economias de dimenso, o capital tende a se
monopolizar por uma terceira razo: a vantagem (e a possibilidade) de esca-
par s incertezas e aos riscos do mercado. As grandes empresas monopolistas
tendem a ser integradas verticalmente (produzem desde o insumo ou mat-
ria-prima at o bem final) ou horizontalmente (atravs da realizao de ati-
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 47
vidades paralelas ou semelhantes). Mas h certos casos em que a monopoliza-
o ocorre sem que haja qualquer relao entre as atividades. Por que isto
ocorre? Fundamentalmente porque, reunindo atividades e crescendo, a em-
presa passa a controlar melhor o mercado, e deixa de ser o joguete das foras
imprevisveis desse prprio mercado. Geralmente, o controle do mercado
considerado uma conseqncia da monopolizao. De fato . Mas tambm
uma causa, um estmulo ou uma vantagem decisiva para as grandes empresas.
preciso, entretanto, que a vantagem de escapar s incertezas do mer-
cado se some possibilidade econmica de faz-lo. No necessrio que haja
economias de dimenso, mas fundamental que no haja deseconomias, que
os custos no se elevem com o aumento de escala. Como foi possvel lograr
esse objetivo? Fundamentalmente, por meio do desenvolvimento das modernas
tcnicas administrativas, da organizao funcional descentralizada, da admi-
nistrao por objetivos, por intermdio do desenvolvimento dos sistemas de
comunicao, do aperfeioamento da administrao mercadolgica e da ad-
ministrao financeira das empresas. A chamada cincia da administrao
de empresas fundamentalmente uma somatria de estratgias que visam
contrabalanar as deseconomias de dimenso e permitir a formao das gran-
des empresas monopolistas e burocrticas modernas.
Nos pases capitalistas centrais, esse processo de monopolizao acele-
rou-se a partir do final do sculo XIX. Na Inglaterra e nos Estados Unidos,
o controle das empresas tende a permanecer dentro delas mesmas. Simples-
mente, ele foi passando cada vez mais das mos de capitalistas para as de
administradores profissionais ou tecnoburocratas. J nos pases de industria-
lizao tardia, como a Alemanha e o Japo, os grandes bancos, apoiados pelo
Estado, assumiram o controle direto das empresas.
Esse fenmeno de controle do capital industrial com o bancrio e da
conseqente fuso dos dois tipos de capital foi chamado de capital financei-
ro por Marx. Hilferding e Lnin tentaram generalizar a teoria do capital fi-
nanceiro para todos os pases, a partir de uma experincia alem. Mas essa
generalizao no se justifica: nem sempre os grandes bancos tendem a con-
trolar os grandes empreendimentos industriais, comerciais e de servios.
No caso brasileiro, por exemplo, o processo de monopolizao foi muito
diverso. Ocorreu s a partir da Segunda Guerra Mundial, fundamentalmen-
te a partir dos anos 50. E assumiu duas caractersticas bsicas: a transforma-
o do Estado em Estado-produtor e a penetrao das empresas multinacio-
nais manufatureiras. O resultado desse processo de monopolizao tardio foi
a significativa participao das empresas estatais e das empresas multinacio-
nais ao lado das empresas privadas nacionais.
48 Luiz Carlos Bresser Pereira
O Quadro III ilustra bem esse fenmeno. Seja qual for o critrio, patri-
mnio lquido (capital) ou lucro lquido, a participao das empresas esta-
tais e das multinacionais bastante relevante tanto entre as 100 como entre
as 200 maiores empresas em atividade no pas. Essas porcentagens cresceriam
ainda mais se tomssemos um nmero menor de empresas: por exemplo,
apenas as 50 maiores empresas.
As grandes empresas monopolistas ou, se quisermos ser mais preci-
sos, oligopolistas, porque monoplio um mercado em que h s um vende-
dor, e oligoplio um mercado em que h poucos grandes vendedores
constituem o chamado setor moderno ou dinmico da economia brasi-
leira. So a base e as grandes beneficirias do modelo de subdesenvolvimen-
to industrializado que se define no Brasil a partir de meados dos anos 50.
A apropriao do excedente que realizam pode ser dividida em trs par-
tes: uma parte constituda pela mais-valia clssica, cujo mecanismo j des-
crevemos; uma segunda parte constituda pelos subsdios, estmulos e be-
nefcios de toda ordem que recebem do Estado ( a moderna acumulao pri-
mitiva); e a terceira parte constituda pelo lucro monopolista, ou seja, pelo
lucro que conseguem realizar vendendo os bens por um preo um pouco aci-
ma de seu valor graas ao poder de mercado que possuem. Esse poder de mer-
cado deriva, de um lado, da grande dimenso dessas empresas e, de outro,
dos acordos que elas fazem entre si. O cartel, ou seja, o acordo entre empre-
sas oligopolistas, um fenmeno aberto no Brasil. Nos pases capitalistas cen-
trais, o cartel considerado crime. S pode ser feito com muita discrio. No
Brasil, as grandes empresas no tm a menor preocupao em esconder seus
acordos de preo.
Quadro III: Distribuio em Porcentagem das 100 e das 200 Maiores
Empresas entre Nacionais, Multinacionais e Estatais
Segundo Patrimnio Segundo Lucro
Lquido Lquido
100 200 100 200
Estatais 50,0 39,0 30,0 21,0
Multinacionais 17,0 17,5 19,0 20,0
Nacionais Privadas 33,0 43,5 51,0 59,0
Fonte: Conjuntura Econmica, Suplemento Especial, setembro 1985.
Mas, para entender o processo de apropriao do excedente das empresas
oligopolistas, preciso acrescentar o conceito de troca desigual, que permite
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 49
ao setor monopolista extrair excedentes no apenas dos trabalhadores, mas,
tambm, do setor competitivo da economia, inclusive da pequena produo
mercantil, nos quadros do modelo de subdesenvolvimento industrializado.
Antes de analisarmos esse processo de troca desigual, entretanto, vamos ver
um pouco mais de perto o incio da industrializao brasileira o chamado
modelo de substituio de importaes e, em seguida, os dois fatores con-
dicionantes fundamentais da economia brasileira atual e de seu modelo de
subdesenvolvimento industrializado: as empresas multinacionais e o Estado
produtor e regulador.
NOTA
1 O conceito de capitalismo monopolista foi desenvolvido por muitos autores. O tex-
to clssico de Baran e Sweezy (1996). importante tambm a contribuio de Galbraith
(1967).
50 Luiz Carlos Bresser Pereira
Captulo 6
INDUSTRIALIZAO SUBSTITUTIVA DE IMPORTAES
A industrializao brasileira ocorreu nos quadros do chamado mode-
lo de substituio de importaes. Seus primrdios datam da segunda me-
tade do sculo passado, mas a industrializao de ento era inteiramente
dependente de nossas exportaes. Limitava-se a alguns bens de consumo e
no possua qualquer grau de integrao vertical e de autonomia. A verda-
deira industrializao brasileira s ocorre a partir de 1930.
Conforme demonstrou Celso Furtado, o grande impulso industrial bra-
sileiro nessa poca deveu-se a dois fatores: (1) elevao dos preos dos pro-
dutos importados, devido absoluta carncia de divisas estrangeiras (as ex-
portaes brasileiras caram para a metade nos anos 30 quando comparadas
com as dos anos 20 devido depresso mundial), tornando vivel e lucrati-
va a produo interna de muitos desses bens; e (2) manuteno da deman-
da agregada interna em termos keynesianos graas s compras, pelo Estado,
de caf para ser estocado e depois queimado. Em vez de se deixar o caf sem
compradores no p, ou apenas derrub-lo no cho, o que pareceria primei-
ra vista mais lgico, o Estado comprou o caf. Toda uma srie de trabalhos
inteis porque afinal s queimava o caf foi realizada. Mas, conforme
depois ensinou Keynes, da mesma forma que construir pirmides ou abrir bu-
racos para depois ench-los, colher o caf para depois queim-lo tinha uma
virtude bsica: sustentava o nvel da demanda agregada, ou seja, mantinha
os trabalhadores empregados, evitava que as empresas fossem falncia,
mantinha o nvel de consumo e mesmo de investimento (j que a formao
de estoques um investimento). A demanda agregada a soma do consumo
mais o investimento e as despesas do Estado. Mantidos os seus trs compo-
nentes, mantinha-se a demanda agregada. Dada a elevao dos preos dos
produtos importados, surgiram oportunidades altamente lucrativas para in-
vestimentos industriais, especialmente em um momento em que os preos dos
produtos importados haviam subido fortemente devido carncia de divi-
sas. Realizvamos assim, antes que Keynes houvesse publicado, em 1936, sua
clssica Teoria geral, uma poltica econmica tipicamente keynesiana, e ob-
tnhamos bons resultados.1
Esse foi o impulso dos anos 30. Na primeira metade dos anos 40, a Se-
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 51
gunda Guerra Mundial encarregou-se de estimular a industrializao brasi-
leira. Em seguida, o Estado comea a intervir cada vez mais efetivamente no
processo de industrializao. Seu papel fundamental transferir renda do setor
exportador de caf, cujo preo internacional estava muito acima do seu va-
lor-trabalho, para a indstria.
Essa transferncia de renda do caf para a indstria fundamental para
a industrializao brasileira do perodo 1945-1960. Por meio do confisco
cambial, ou seja, de se estabelecer um cruzeiro fortemente valorizado para a
exportao de produtos primrios, especialmente para o caf, cobrava-se um
imposto disfarado dos exportadores. Se, por exemplo, cada dlar exporta-
do valia 100 cruzeiros, davam-se apenas 40 cruzeiros para o exportador (isto
significa manter o cruzeiro valorizado). A diferena era transferida para os
industriais, para que pudessem importar mquinas e matrias-primas, diga-
mos, pelos mesmos 40 cruzeiros. Com isso, em cada exportao-importao
se transferiam 60 cruzeiros por dlar do exportador de produtos primrios
para o importador de mquinas e insumos industriais.
A industrializao brasileira foi chamada de substitutiva de importaes
porque o critrio bsico para produzir localmente determinado bem era exa-
minar a pauta de importaes. A produo nacional contou inicialmente com
uma proteo natural dos preos elevados de importao; depois o Estado
passou a proteger a indstria com taxas mltiplas de cmbio tanto na expor-
tao quanto na importao. Esse sistema, cujas bases descrevemos acima,
usava das taxas diferenciadas para tributar as exportaes (tributando espe-
cialmente o caf, que era o produto mais lucrativo) e para tributar as impor-
taes de bens de consumo ou de bens que a indstria j produzisse local-
mente. Esse sistema, que se revelou bastante eficiente, embora de muito dif-
cil manejo, foi parcialmente substitudo com a aprovao da Lei de Tarifas,
em 1958. Em vez de taxa de cmbio, foi ento possvel proteger a indstria
nacional com impostos de importaes ou tarifas que eram aumentadas quan-
do se iniciava a produo nacional.
Este modelo de substituio de importaes implicava uma sistemtica
reduo do coeficiente de importaes em relao renda. A produo in-
dustrial (I) crescia mais rapidamente que a produo total ou renda nacional
(Y) e esta mais rapidamente que as exportaes-importaes (X):
I > Y > X (1)
I Y X
A produo industrial (setor secundrio), por sua vez, crescia mais ra-
52 Luiz Carlos Bresser Pereira
pidamente do que a renda nacional, porque uma caracterstica essencial da
industrializao o crescimento industrial mais rpido do que o da produ-
o agrcola (A) (setor primrio, incluindo minerao):
I > A (2)
I A
O setor tercirio, composto do comrcio, dos transportes, dos servios
pblicos, do sistema financeiro, dos servios pessoais, tendia a crescer apro-
ximadamente no mesmo ritmo da produo nacional. O Quadro IV mostra
as diferentes taxas de crescimento dos setores da economia. O Quadro V, a
decorrente modificao na participao da renda dos trs setores e o coeficiente
de abertura externa (importaes mais exportaes, dividido por dois e divi-
dido pelo produto nacional interno bruto).
Quadro IV: Taxas de Crescimento por Setor (%)
1 perodo 2 perodo Total
1947-1960 1960-1980 1947-1980
Setor Primrio 3,69 5,59 4,84
Setor Secundrio 7,31 11,89 10,06
Setor Tercirio 5,33 9,82 8,03
Renda Nacional 5,35 9,78 8,01
Importaes + Exportaes -0,33 11,74 6,82
Fonte: Conjuntura Econmica, setembro 1971, v. 25, n 9; Conjuntura Econmica, fevereiro 1981, v.
35, n 2.
Quadro V: Participao dos Setores na Renda (%)
1947 1960 1980
Setor Primrio 27,6 22,5 10,3
Setor Secundrio 19,9 25,2 36,9
Setor Tercirio 52,5 52,3 52,8
Renda Nacional 100,0 100,0 100,0
Coeficiente de Abertura 14,6 6,8 10,2
Fonte: Conjuntura Econmica, setembro 1971, v. 25, n 9; Conjuntura Econmica, fevereiro 1981, v.
35, n 2.
Atravs dos Quadros IV e V, podemos verificar a validade das inequaes
(1) e (2) durante o perodo do modelo de substituio de importaes, entre
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 53
1947 (quando comeam a ser publicados regularmente dados sobre as con-
tas nacionais brasileiras pela Fundao Getlio Vargas) e 1960, poca em que
se esgota o modelo. Enquanto a indstria cresce taxa anual de 7,31%, o
produto cresce de 5,35% e a agricultura, ou, mais precisamente, o setor pri-
mrio, cresce a 3,69% ao ano. As exportaes e as importaes, por sua vez,
chegam a cair nesse perodo, o que demonstra o carter fortemente voltado
para o mercado interno do modelo de substituio de importaes. Em con-
seqncia, o coeficiente de abertura da economia, que era de 14,6% em 1947,
cai para apenas 6,8% em 1960.
Essa industrializao substitutiva de importaes foi, inicialmente, rea-
lizada quase exclusivamente por empresrios locais. Nos anos 30 e 40 (e an-
tes tambm), a participao das empresas multinacionais e estatais era abso-
lutamente secundria. s a partir dos anos 50, quando muda de forma de-
cisiva o padro de acumulao no Brasil, que essas empresas tero um papel
importante.
Essa mudana ir acontecer porque o modelo de substituio de impor-
taes base da indstria nacional era intrinsecamente transitrio. A redu-
o do coeficiente de abertura externa tinha limites claros. Com o esgotamento
das possibilidades de fcil substituio de importaes, por volta de 1960, o
coeficiente de abertura passa a crescer, alcanando 10,2% em 1980. Entr-
vamos em um novo padro de acumulao orientado para as exportaes: o
modelo de subdesenvolvimento industrializado.
Por outro lado, como demonstrou Maria da Conceio Tavares, subs-
titua-se a importao de determinados bens, mas, em seguida, criavam-se pro-
curas derivadas, que implicavam importao ou gasto de divisas externas, com
matrias-primas, mquinas, royalties e remessas de lucros das multinacionais.2
Em conseqncia, a carncia de divisas e o desequilbrio externo estavam sem-
pre rondando a economia. Some-se a isto a limitao na capacidade de pou-
pana interna, especialmente quando, durante a segunda metade dos anos 50,
com a baixa dos preos internacionais do caf, comea a esgotar-se a possi-
bilidade de transferir recursos da agricultura de exportaes para a inds-
tria; assim, teremos as bases para a penetrao das multinacionais e para o
desenvolvimento das empresas estatais, inaugurando-se um novo padro de
acumulao: o modelo de subdesenvolvimento industrializado.
NOTAS
1 Esta anlise encontra-se no livro clssico de Celso Furtado (1959a), Formao econ-
mica do Brasil, que at hoje a mais importante anlise histrica da economia brasileira. Entre
54 Luiz Carlos Bresser Pereira
os livros recentes, merece destaque Ordem e progresso, organizado por Marcelo de Paiva Abreu
(1990) e Indstria brasileira: origem e desenvolvimento, de Wilson Suzigan (1986).
2 As anlises clssicas do processo de substituio de importao so de Maria da
Conceio Tavares (1963), Fishlow (1991) e Hirschman (1979).
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 55
56 Luiz Carlos Bresser Pereira
Captulo 7
AS EMPRESAS MULTINACIONAIS
As empresas multinacionais transformam-se em um fenmeno econ-
mico e poltico fundamental do nosso tempo apenas a partir dos anos 50.
claro que antes j havia empresas internacionais, a comear pelas companhias
mercantis dos sculos XVII e XVIII. E no sculo XIX e primeira metade do
sculo XX, com a industrializao dos pases centrais, as empresas interna-
cionais transformam-se em uma ponta de lana do imperialismo que trans-
forma a sia e a frica em colnias polticas e a Amrica Latina em colnia
econmica.
Essas empresas internacionais dedicavam-se ao comrcio, explorao
de matrias-primas, minerais e produo de algumas culturas tropicais, como
a banana e a seringueira, destinadas sempre exportao, nos quadros do
modelo de subdesenvolvimento primrio-exportador. Interessavam-se tam-
bm pelos transportes ferrovirios, pelos portos, pelos servios pblicos e pelas
atividades bancrias, mas sempre com vistas ao comrcio internacional. Havia
algumas empresas industriais, mas que produziam produtos para exportao
(carne enlatada, por exemplo) ou, ento, limitavam-se a estabelecer oficinas
de assistncia tcnica ou, no mximo, fbricas de montagem que facilitassem
a exportao dos bens industriais pelas matrizes. A produo industrial pro-
priamente dita estava reservada para a metrpole.
Toda a ateno estava voltada para o comrcio internacional porque
era atravs dele que as potncias imperialistas extraam o excedente dos pa-
ses perifricos. No caso das colnias polticas da frica e da sia, o processo
de extrao do excedente dos povos colonizados era simples. Dado o mono-
plio do comrcio internacional detido pela metrpole, bastava estabelecer
um preo para os produtos de exportao da colnia abaixo do valor e um
preo para os produtos industriais da metrpole acima do valor-trabalho.
Era uma forma de tributao disfarada, via preos, que a metrpole im-
punha colnia.
No caso das colnias econmicas da Amrica Latina, o processo era mais
complexo, embora, afinal, tivesse o mesmo resultado. Os pases centrais ven-
diam caro para o Brasil e compravam barato as coisas daqui. Os ganhos de
produtividade, segundo descobriu Raul Prebisch, eram mantidos nos pases
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 57
centrais atravs da elevao dos lucros das empresas monopolistas e dos sa-
lrios dos trabalhadores sindicalizados. Enquanto isso, nos pases perifri-
cos, os ganhos de produtividade transformavam-se em reduo de preos das
mercadorias exportadas e, em conseqncia, em transferncia do excedente
para os pases centrais. Verificava-se, assim, um processo de troca desigual
entre pases, ou seja, de deteriorao dos preos dos produtos exportados pelos
pases produtores de produtos primrios em relao aos preos dos produ-
tos industrializados dos pases centrais.1
Esse era o mecanismo do velho imperialismo, no comrcio internacio-
nal, para extrao do excedente. As empresas internacionais auxiliavam o
processo, mas no tinham o papel central: este cabia ao comrcio interna-
cional, diviso internacional do trabalho entre pases industrializados e
primrio-exportadores. Os pases que se recusavam a participar desse livre
comrcio eram obrigados a faz-lo pela fora das armas, como aconteceu
com o Japo e a China, entre outros.
A partir dos anos 50, na Amrica Latina de modo geral e no Brasil em
especial, a situao muda totalmente. A crise do velho imperialismo, repre-
sentada pela grande depresso dos anos 30 e pela Segunda Guerra Mundial,
permitira ao Brasil iniciar sua industrializao. Para a nova potncia mun-
dial, que substitura a Inglaterra no domnio econmico do sistema capita-
lista os Estados Unidos , era impossvel pretender manter o Brasil um
pas agrcola, primrio-exportador. Nossa vocao industrial tornara-se de-
finitiva. Os pases centrais, liderados pelos Estados Unidos, viriam eles pr-
prios participar de nossa industrializao, ou perderiam o mercado brasilei-
ro, pois acabaramos ns mesmos realizando nossa industrializao, ainda
que em ritmo mais lento.
O Brasil encontrava-se, no incio dos anos 50, em uma situao muito
propcia para a entrada do capital estrangeiro. A indstria leve de bens de
consumo j fora instalada pelos empresrios nacionais. Algumas indstrias
de matrias-primas e bens de capital tambm j haviam sido iniciadas por
empresas brasileiras. O Estado s produzia ao em Volta Redonda, alm de
soda custica (uma matria-prima bsica). Mas toda a indstria de bens de
consumo durveis, a comear pela indstria automobilstica, alm de muitas
indstrias de matrias-primas (insumos) e de mquinas (bens de capital), es-
tava ainda por ser implantada.
As grandes empresas industriais dos pases centrais, recuperadas da Se-
gunda Guerra Mundial, transformadas em gigantescos empreendimentos
descentralizados dentro de seus prprios pases, dotadas de administraes
profissionais altamente competentes e beneficiadas pelo grande avano dos
58 Luiz Carlos Bresser Pereira
sistemas de comunicaes e de transporte de pessoal (avio a jato), estavam
prontas para se transformarem em empresas multinacionais industriais. Pri-
meiro se instalam em outros pases centrais, mas logo em seguida escolhem
alguns pases perifricos, entre os quais se destaca o Brasil, para realizarem
seus investimentos internacionais.
O extraordinrio avano das empresas multinacionais em todo o mun-
do iria representar uma modificao estrutural na economia mundial. As em-
presas multinacionais so formas de organizar internacionalmente a produ-
o e, assim, evitar os riscos e incertezas do comrcio internacional.
Em suas relaes com os pases perifricos, as empresas multinacionais
industriais (que so historicamente as empresas multinacionais propriamen-
te ditas, em contraste com as velhas empresas internacionais do velho impe-
rialismo e do modelo primrio-exportador) estabelecem um novo tipo de
imperialismo: um imperialismo industrializante, desenvolvimentista, mas
condicionador de um novo estilo de acumulao de capital, concentrador de
renda, excludente, que chamaremos de modelo de subdesenvolvimento indus-
trializado. As empresas multinacionais so agora os novos agentes desse im-
perialismo contraditrio, que transfere o excedente para o centro, via lucros
abertos e disfarados, mas tambm promove o desenvolvimento interno. Esse
desenvolvimento, entretanto, tende a ser profundamente perverso, medida
que as multinacionais so um dos principais fatores condicionantes de um
modelo de desenvolvimento que, procurando reproduzir na periferia os pa-
dres de consumo do centro, acaba beneficiando muito poucos. Fernando
Henrique Cardoso, a partir da anlise desse novo imperialismo, estabeleceu
as bases da chamada teoria da dependncia.2
tolice, entretanto, desenvolver uma atitude exclusivamente crtica em
relao s empresas multinacionais. De um lado, porque elas se constituem
hoje em uma parte integrante do capital nacional. impossvel colocar suas
fbricas em navios e transport-las de volta para seus pases de origem. De
outro aquilo que um nacionalismo cego, que v o inimigo nas multinacio-
nais, no percebe realmente , porque a explorao a que est submetida a
grande maioria da populao brasileira, os trabalhadores, no fruto ape-
nas das multinacionais, mas do carter capitalista da sociedade brasileira.
a associao da burguesia com as multinacionais e com os tecnoburocratas
privados e estatais a base da explorao intrnseca existente na economia bra-
sileira. No este ou aquele burgus, nem este ou aquele tecnoburocrata e,
certamente, no esta ou aquela multinacional a responsvel pela explora-
o. Esta emerge da prpria natureza do capitalismo monopolista tecnoburo-
crtico dependente brasileiro que estamos tentando descrever.
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 59
NOTAS
1 A teoria da troca desigual a partir da tendncia deteriorao das relaes de troca
para os pases produtores de bens primrios foi proposta originalmente por Raul Prebisch
(1949), e serviu de base para todo o pensamento latino-americano a favor do apoio do Esta-
do industrializao. Este texto foi originalmente escrito em espanhol, mas acabou sendo
primeiro publicado em portugus, em Revista Brasileira de Economia, devido interveno
pessoal de Celso Furtado.
2 Cardoso e Faletto (1969). A mudana do comportamento das empresas multinacio-
nais, que, a partir dos anos 50, passam a investir na indstria, em vez de se limitarem ao setor
primrio e aos servios de utilidade pblica, foi inicialmente assinalada por Hlio Jaguaribe
(1958). Em um trabalho de 1963 sobre os empresrios industriais, eu tambm assinalava esse
fato novo para demonstrar que o pacto poltico unindo a burguesia industrial s esquerdas
contra o imperialismo havia perdido sentido (Bresser Pereira, 1963). Este trabalho consti-
tuiu a base do Captulo IV de Desenvolvimento e crise no Brasil 1930-1967 (Bresser Pe-
reira, 1968). Foram, entretanto, Cardoso e Faletto que tiraram todas as conseqncias desse
fato novo.
60 Luiz Carlos Bresser Pereira
Captulo 8
CAPITALISMO ESTATAL
A economia brasileira no apenas capitalista; tambm tecnoburocrtica
ou estatal. Tecnoburocrtico e estatal no so termos sinnimos, mas tm muitas
semelhanas. A tecnoburocracia uma nova classe, que tambm poderamos
chamar de burocracia ou simplesmente classe mdia empregada. Existe uma
tecnoburocracia privada, que trabalha para as grandes empresas, e uma tec-
noburocracia estatal, civil e militar, que trabalha para o Estado e para as em-
presas estatais em todos os seus nveis. Se queremos dar nfase ao fato de que
o capitalismo brasileiro cada vez mais produto da interveno do Estado,
falamos em capitalismo monopolista estatal (ou de Estado). Se queremos sa-
lientar a importncia, embora se trate principalmente da tecnoburocracia estatal,
falamos de capitalismo monopolista tecnoburocrtico.
Neste captulo, examinaremos o carter estatal da economia brasileira.
Nos pases capitalistas centrais, o capitalismo desenvolve-se em quatro fases:
capitalismo mercantil, capitalismo industrial competitivo, capitalismo mono-
polista e capitalismo monopolista estatal. O momento decisivo da passagem para
o capitalismo estatal, na Inglaterra e nos Estados Unidos, que podem ser con-
siderados como pases-padro do desenvolvimento capitalista, ocorre na grande
depresso dos anos 30. Nos Estados Unidos, esse processo tem inclusive um nome
o New Deal de Roosevelt, entre 1933 e 1940. Na Inglaterra, surge a figura
marcante de John Maynard Keynes, provavelmente o mais significativo econo-
mista poltico da primeira metade do sculo XX (como Adam Smith, David
Ricardo e Karl Marx foram, respectivamente, os economistas cujas contribuies
para a economia poltica foram mais decisivas na segunda metade do sculo
XVIII, na primeira do sculo XIX e na segunda do sculo XIX).
Keynes pblica a Teoria geral da moeda, do juro e do emprego em 1936.
A mensagem revolucionria no nvel da teoria econmica ortodoxa, da qual
Keynes fora anteriormente um dos mais ilustres representantes, era simples:
o sistema capitalista era intrinsecamente desequilibrado, sujeito a crises pro-
fundas. A soluo para reduzir a violncia das crises econmicas era a inter-
veno do Estado na economia.
Na verdade, Keynes estava apenas registrando e interpretando um movi-
mento que j estava acontecendo no sistema econmico. O New Deal uma
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 61
poltica econmica keynesiana antes de Keynes. O mesmo se pode dizer das
compras e da queima do caf pelo Estado brasileiro no incio dos anos 30.
Era o Estado Regulador que surgia e passava a substituir parcialmente o
mercado na regulao macroeconmica do sistema econmico. Passava a ser
funo do Estado controlar o fluxo de investimentos e de consumo (a procu-
ra ou demanda agregada) para evitar as crises e a inflao. As crises cclicas
do capitalismo so causadas pelo surgimento de perspectivas pessimistas por
parte dos empresrios quanto sua taxa de lucro futura, levando-os a redu-
zir o volume de investimento ou acumulao de capital. A inflao, por sua
vez, seria causada, segundo a explicao keynesiana, no simplesmente por
um excesso de moeda (como pretendiam os neoclssicos), mas por um ex-
cesso de procura agregada. Em ambos os casos, portanto, era essencial que
o Estado controlasse os investimentos, que, por sua vez, atravs do mecanis-
mo do multiplicador, determinariam a renda total, o consumo (funo da
renda) e a poupana. Esta deixava de determinar o investimento, como pen-
savam linearmente os clssicos e neoclssicos, para ser por ele determinada.
Em economias caracterizadas pelo desemprego e pela capacidade ociosa, os
investimentos transformavam-se na varivel estratgica, e a poupana (ou os
lucros, na interpretao de Kalecki) surgia como mera conseqncia ou res-
duo. Cabia ao Estado, atravs da poltica econmica, determinar o nvel dos
investimentos, o qual, por sua vez, determinava a taxa de poupana e o vo-
lume de lucros gerados pelo sistema econmico.
preciso, entretanto, assinalar que a emergncia do Estado Regulador,
responsvel pelo pleno emprego e pela estabilidade dos preos, foi uma re-
voluo, nos anos 30 e 40, principalmente para os dois pases onde se ini-
ciou o desenvolvimento capitalista: Inglaterra e Estados Unidos. Nos pases
de capitalismo tardio, como a Alemanha e o Japo (a Frana um caso in-
termedirio), j vimos que o capitalismo se implantou em termos monopolistas
a partir do ltimo quantil do sculo XIX. Mas o capitalismo nesses pases
no foi apenas monopolista, foi tambm estatal.
De modo geral, pode-se afirmar que quanto mais atrasado estivesse o
pas em relao Inglaterra e aos Estados Unidos, e quanto mais rpido tenha
sido o processo de recuperao do atraso, maior foi a participao do Esta-
do, no apenas como Estado Regulador, mas tambm como Estado Produtor.
O caso do Japo ilustra de maneira exemplar essa lei geral. Na segunda
metade do sculo XIX, o Japo era um pas muito atrasado. No possua ne-
nhuma indstria. Mas, em 1868, realizou uma revoluo aristocrtica: res-
taurao Meiji. Em seguida, o Estado japons organizou-se para realizar
poupana forada (extrada de uma agricultura camponesa razoavelmente
62 Luiz Carlos Bresser Pereira
prspera) e aplic-la diretamente na industrializao. Praticamente todas as
indstrias importantes do Japo, no final do sculo XIX e incio do sculo
XX, foram impulsionadas pelo Estado. Era o Estado Produtor que nascia.
certo que logo em seguida o Estado cedeu praticamente de graa todas as suas
empresas industriais para umas poucas famlias capitalistas japonesas, em
grande parte de origem samurai. Isto foi possvel devido ao total controle que
essas famlias exerciam sobre o Estado japons, no qual os trabalhadores no
tinham a mnima participao. Mas a eficincia do Estado Produtor, do Es-
tado Empresrio, na promoo do desenvolvimento e da prpria acumula-
o capitalista, estava demonstrada.
Ao mesmo tempo, nos pases capitalistas centrais, o Estado assumia de
forma crescente um terceiro papel (alm do de Regulador e Produtor). Trans-
formava-se em Estado Previdencirio ou do Bem-Estar. Um nmero crescente
de tipos de consumo era transformado em consumo social e atribudo ao Esta-
do: o caso da educao, da sade, do saneamento bsico, de previdncia
social em geral.
O Estado assume o papel de Regulador porque, como Keynes demons-
trou, a poltica macroeconmica era condio absoluta de um relativo equi-
lbrio do sistema econmico.
O Estado assume o papel de Estado do Bem-Estar porque o consumo
social mais eficiente, mais barato, portanto, do que o consumo privado.
Diante da presso dos trabalhadores por maiores salrios, o consumo social
uma forma de conced-los ( salrio indireto) muito mais barata para o
capitalista do que aumentar-lhes diretamente os salrios. O consumo social
gerenciado pelo Estado rebaixa o custo de reproduo da mo-de-obra que
deve ser paga pelas empresas na forma de salrios diretos.
Finalmente, o Estado assume o papel de produtor no porque seja mais
eficiente do que os capitalistas privados, mas porque tem maior capacidade
de captar e concentrar o excedente necessrio para a formao das grandes
empresas. A eficincia dos tecnoburocratas privados que dirigem as grandes
sociedades annimas tende a ser aproximadamente a mesma que a dos tecno-
burocratas estatais que administram empresas semelhantes: tm vantagens em
alguns pontos e desvantagens em outros. Mas a capacidade de realizar pou-
pana forada do Estado e de acumular grandes somas de recursos realmente
nica. Por meio de imposto, preos de monoplio ou de simples inflao, o
Estado capaz de financiar suas prprias empresas de maneira muito mais
efetiva do que os capitalistas.
A classe dominante capitalista reconhece esse fato, embora esteja sem-
pre alertando contra os riscos da estatizao. Os capitalistas sabem ou pelo
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 63
menos sentem que a interveno do Estado na economia, inclusive como
Estado Produtor, essencial para a acumulao privada. A acumulao es-
tatal no compete com a privada, mas a estimula. Criando grandes empre-
sas, o Estado compra equipamentos (geralmente a alto preo) das empresas
capitalistas, e vende matrias-primas ou energia a essas e outras empresas
capitalistas (geralmente a baixo preo). Criando grandes bancos estatais, o
Estado tem condies de financiar as empresas capitalistas a juros subsidiados.
Entretanto, conforme verificaremos na ltima parte deste livro, ser esse Es-
tado Produtor, que, no primeiro mundo, assumiu o papel de Estado do Bem-
Estar, no segundo mundo, de Estado Comunista, e no terceiro, de Estado De-
senvolvimentista, que entrar em crise a partir dos anos 70 e principalmente
nos anos 80, resultando da uma ampla reviso do modelo de desenvolvimento
capitalista.
No Brasil, a industrializao s ganha impulso quando, com a Revolu-
o de 1930, o Estado deixa de ser representante da oligarquia agrrio-mer-
cantil. No perodo primrio-exportador, entre 1808 e 1930, o Estado Oli-
grquico anti-industrializante, uma imitao mal feita do Estado liberal ou
do Estado do laissez-faire europeu. autoritrio politicamente e, na rea eco-
nmica, limita-se a servir de cabide de empregos para os agregados e fami-
liares da classe dominante agrrio-mercantil.
Entre 1930 e 1960, com a ascenso de Getlio Vargas ao poder, insta-
la-se o Estado Populista no Brasil. O Governo passa a ser o produto de uma
aliana de classes da qual participam setores no-exportadores da velha oli-
garquia, a burguesia industrial nascente, as camadas mdias tecnoburocrti-
cas tambm nascentes e, como scios minoritrios, os trabalhadores urba-
nos. As polticas do Estado assumem, ento, um carter nitidamente indus-
trializante. A siderrgica de Volta Redonda instalada na primeira metade
dos anos 40, mas s nos anos 50 que o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econmico (BNDE), a Petrobrs, as companhias hidreltricas (que depois se
subordinam ou transformam em Eletrobrs e Companhia Energtica do Es-
tado de So Paulo (CESP)) e as demais siderrgicas comeam a ser instaladas.
Por meio de grandes investimentos nas reas da siderrgica e de outras
matrias-primas bsicas, do petrleo, da energia eltrica e do desenvolvimento
de um sistema bancrio, estatal, o Estado brasileiro, ainda na ltima fase do
perodo populista (anos 50), estabelece bases mais slidas para a acumula-
o privada de capital e, portanto, para a industrializao brasileira.
A Revoluo de 1964 liquida com o Estado Populista e se prope de-
sestatizar a economia. Mas o Estado Tecnoburocrtico-Capitalista Autori-
trio que se instala, alm de ditatorial, estava profundamente empenhado em
64 Luiz Carlos Bresser Pereira
acelerar a acumulao capitalista e garantir a expanso das organizaes
burocrticas pblicas e privadas. Ora, para isso, era essencial o aprofunda-
mento de participao do Estado na economia. O Estado Tecnoburocrtico-
Capitalista porque expressa a aliana da classe dominante burguesa com a
tecnoburocracia emergente. Esta, em sua frao estatal e particularmente
militar, assume o papel de classe dirigente. A burguesia tutelada pela tec-
noburocracia no plano poltico. No plano econmico, entretanto, a alta tecno-
burocracia, ainda que satisfazendo seus prprios interesses na forma de al-
tos ordenados e de poder, atende principalmente aos interesses de acumula-
o de capital da burguesia.
Nesse perodo, o desenvolvimento do aparato econmico estatal ex-
traordinrio. Embora o nmero de empresas estatais no seja um indicador
decisivo da participao do Estado na economia, significativo assinalar que
at o final dos anos 50 havia no Brasil 14 empresas estatais contra 560 em
janeiro de 1981. S a partir de 1974, quando se inicia a segunda crise do ca-
pitalismo brasileiro (a primeira ocorreu entre 1962 e 1966, favorecendo o
golpe de 1964), uma campanha anti-estatizante da burguesia procura para-
lisar o desenvolvimento do Estado. O xito dessa campanha, entretanto, foi
muito limitado. As empresas estatais continuaram a crescer em nmero e
dimenso. S nos anos 70 foram criadas 259 empresas estatais. Em 1981,
porm, j estava claro que a sada da crise s poderia ocorrer a partir de novos
investimentos estatais e de maior controle do sistema econmico do Estado.
O Quadro VI apresenta a participao crescente do Estado no processo
de acumulao de capital (formao bruta do capital fixo) at o final dos anos
70. Essa participao, que era de 38,1% em 1965, sobe para 43% em 1978.
O Quadro III compara as maiores empresas nacionais estatais, nacionais pri-
vadas e multinacionais em 1985, deixando clara a importncia das empre-
sas estatais na economia brasileira.
Quadro VI: Participao do Estado na Acumulao de Capital (%)
1965 1970 1975 1978
Setor Privado 61,9 61,2 58,0 57,0
Estado 38,1 38,2 42,0 43,0
Governo 24,8 18,5 16,9 16,1
Empresas Pblicas 13,3 20,3 25,1 26,9
Fonte: Henri Philippe Reichstul e Luciano Coutinho, Tendncias Recentes do Investimento Empresarial
do Estado.
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 65
Segundo clculos de Carlos A. Longo, da Universidade de So Paulo, a
participao do Estado no PIB, incluindo as empresas estatais, correspondia
a 47,5% em 1980. Wilson Sugizan, a partir de uma amostra de 731 grandes
empresas, verificou que as empresas estatais (115 na amostra) controlavam
em 1974 mais da metade do patrimnio lquido total, um quarto do fatu-
ramento, um tero do lucro lquido e empregavam pouco menos de um ter-
o da mo-de-obra. As instituies oficiais de crdito eram responsveis por
72,2% dos financiamentos para investimentos, sendo um nmero provavel-
mente subestimado porque considerava como fonte privada de crdito os
repasses de fundos do BNH pelas Sociedades de Crdito Imobilirio.
66 Luiz Carlos Bresser Pereira
Captulo 9
CAPITALISMO TECNOBUROCRTICO
O avano da participao do Estado na economia brasileira permite-nos
falar em um capitalismo estatal ou capitalismo de Estado. Se quisermos, en-
tretanto, dar mais nfase emergncia da classe tecnoburocrtica, deveremos
falar em capitalismo tecnoburocrtico.1
Na verdade, a formao social brasileira, como a dos demais pases
capitalistas da segunda metade do sculo XX, mista. O capitalismo puro,
competitivo, e mesmo o capitalismo monopolista, foram superados pelo ca-
pitalismo estatal ou tecnoburocrtico. O modo de produo capitalista con-
tinua dominante, mas as manifestaes do modo tecnoburocrtico ou esta-
tal de produo em emergncia so claras.
Comparemos sumariamente o capitalismo puro, competitivo, com o
estatismo em sua forma histrica mais pura, que a hoje encontrada na Unio
Sovitica. No capitalismo, h a generalizao de mercadoria, sendo inclusi-
ve a fora de trabalho reduzida a mercadoria; todas as mercadorias so tro-
cadas de acordo com seu respectivo valor depois de devidamente transfor-
mado em preo atravs da equalizao das taxas de lucro entre todos os se-
tores da economia. No estatismo, os bens e a prpria fora de trabalho dei-
xam de ser estritamente mercadorias medida que o sistema de planejamen-
to estabelece preos polticos para todos os bens e para o prprio trabalho.
A lei do valor no superada, mas sistematicamente alterada.
Em conseqncia, no modo capitalista de produo, o controle da eco-
nomia, constituda por uma infinidade de pequenas empresas ou firmas, cabe
ao mercado e ao sistema de preos, nos quadros da lei do valor. No modo
estatal de produo, o mercado torna-se secundrio, e o controle da econo-
mia, constituda por grandes empresas estatais, assumido pelo plano, pela
administrao. A lei do valor no deixa de ter vigncia, mas sistematica-
mente alterada por um sistema planejado de subsdios e taxaes, que trans-
forma os preos em preos polticos.
Em segundo lugar, no capitalismo a relao de produo bsica o ca-
pital: a propriedade privada dos meios de produo pelo capitalista. No modo
tecnoburocrtico de produo, desaparece a propriedade privada dos meios
de produo; desaparece, portanto, o capital. Em seu lugar, temos uma nova
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 67
relao de produo, a organizao, ou seja, a propriedade coletiva por par-
te dos tecnoburocratas da organizao burocrtica estatal, a qual, por sua
vez, detm a propriedade dos meios de produo.
Em terceiro lugar, no capitalismo a forma de apropriao do excedente
a mais-valia, ou, em termos de preo, o lucro. No estatismo, preciso dis-
tinguir duas formas de apropriao do excedente: a pblica, em termos de
lucro ou excedente estatal destinado acumulao de meios de produo
(no podemos mais falar em acumulao de capital porque esta s pode
existir quando existe propriedade privada dos meios de produo), e a apro-
priao privada do excedente em termos de altos ordenados diretos e indire-
tos para a alta tecnoburocracia estatal. Os ordenados dos tecnoburocratas
no devem ser confundidos com os salrios dos trabalhadores porque no
correspondem ao custo de reproduo da mercadoria fora de trabalho, nem
podem ser relacionados diretamente com nvel e aumento da produtividade,
como acontece com os salrios. Por outro lado, os ordenados, ou mais pre-
cisamente os altos ordenados, no podem ser confundidos com os lucros
capitalistas, embora ambos pertenam ao mesmo gnero: o excedente eco-
nmico. Os lucros derivam do capital, via mecanismo da mais-valia. Os or-
denados derivam da funo burocrtica. O lucro, dada a tendncia equa-
lizao das taxas de lucro, tendem a ser proporcionais ao volume de capital
que cada capitalista possui. Os ordenados correspondem posio hierr-
quica que os tecnoburocratas ocupam na organizao burocrtica estatal. Os
altos ordenados so uma parte do excedente; os baixos ordenados dos pe-
quenos funcionrios so freqentemente mais baixos que os salrios, no
apropriando qualquer excedente.
No capitalismo, nos termos de um modelo simplificado, a renda ou
produto, Y, igual aos lucros, R, mais os salrios, W.
Y=W+R
No estatismo, a renda igual remunerao dos trabalhadores (a rigor
no podemos falar em salrios), D, mais os ordenados dos tecnoburocratas,
O, mais o excedente estatal destinado acumulao, G.
Y=D+O+G
O capitalismo monopolista e o capitalismo tecnoburocrtico so forma-
es sociais mistas, de transio. Aos salrios dos trabalhadores e aos lucros
dos capitalistas, preciso adicionar o excedente estatal e os ordenados.
68 Luiz Carlos Bresser Pereira
Y=W+O+R+G
Esse o caso da economia brasileira. A tecnoburocracia, definida como
classe porque se constitui em um imenso e crescente grupo social que se ca-
racteriza pelas relaes de produo especficas em que est inserida, apro-
pria-se de ordenados crescentes. Mas mantm ainda uma posio subordi-
nada em relao burguesia e ao capital. A lgica de expanso da organiza-
o burocrtica j se faz sentir no funcionamento do sistema econmico, mas
a lgica da acumulao de capital ainda dominante.
Uma classe social no deve ser confundida com uma camada. Existem
camadas altas, mdias e baixas na sociedade e em cada classe. As classes so
grandes grupos sociais que se definem por sua insero em relaes de pro-
duo especficas e determinados modos de produo. No capitalismo, h duas
classes bsicas: a burguesia, ou seja, os capitalistas proprietrios dos meios
de produo, e os trabalhadores assalariados ou proletariado. No estatismo,
tambm h duas classes: a tecnoburocracia, ou seja, os tcnicos e burocratas
empregados em organizaes pblicas e privadas, e os trabalhadores. Orga-
nizaes burocrticas so as grandes empresas, as escolas, os hospitais, os
sindicatos, os partidos, as igrejas e o prprio Estado, naturalmente. No Bra-
sil, formao social mista, temos trs classes bsicas: a burguesia, a tecno-
burocracia e os trabalhadores. A burguesia, subdividida em alta e mdia
burguesia, a classe dominante. H tambm uma pequena burguesia, cor-
respondente pequena produo mercantil, constituda de pequenos proprie-
trios que trabalham diretamente na produo ou no comrcio alm de even-
tualmente empregarem trabalhadores assalariados. A tecnoburocracia pode
ser subdividida em trs estratos: a alta tecnoburocracia, constituda de dire-
tores profissionais, muito prxima em termos de poder e padro de vida
alta burguesia; a mdia tecnoburocracia, constituda de gerentes e tcnicos,
e a baixa tecnoburocracia, formada pelos funcionrios. A mdia e a baixa
tecnoburocracias, somadas mdia e pequena burguesia, constituem a
chamada classe mdia, que a rigor no classe alguma, mas um conglo-
merado de classes. A tecnoburocracia, no entanto, medida que constitu-
da principalmente de representantes das camadas mdias, pode ser chamada
tambm de nova classe mdia ou de classe mdia organizacional. Final-
mente, temos os trabalhadores, que tambm podem ser estratificados em
especializados, semi-especializados e braais. Os trabalhadores especializados
comeam a se aproximar dos padres de consumo da baixa classe mdia.
A burguesia, enquanto classe dominante, submete a economia brasilei-
ra lgica da acumulao de capital. A tecnoburocracia emergente, alm de
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 69
dar apoio burguesia, tem seus interesses prprios e procura submeter a
economia do pas lgica da expanso da organizao burocrtica, seja a
organizao privada ou estatal. Para a burguesia, interessa realizar lucros e
acumular capital. O objetivo da tecnoburocracia aumentar seus ordenados
e fazer crescer o nmero de postos burocrticos atravs da expanso das gran-
des organizaes.
NOTA
1 Examinei em termos tericos a questo da nova classe mdia burocrtica ou tec-
noburocrtica em A sociedade estatal e a tecnoburocracia, em que reuni trabalhos anterio-
res, e em Estado e subdesenvolvimento industrializado. Apliquei o modelo para compreeender
a realidade brasileira em O colapso de uma aliana de classes. Ver, respectivamente, Bresser
Pereira, 1981, 1977, 1978.
70 Luiz Carlos Bresser Pereira
Captulo 10
O MODELO DE SUBDESENVOLVIMENTO INDUSTRIALIZADO
no momento em que a economia brasileira chega segunda etapa do
processo de industrializao substitutiva de importaes (anos 50), com a
entrada das empresas multinacionais, definindo no Brasil um capitalismo
monopolista dependente, e com o aumento decisivo da participao do Es-
tado, definindo um capitalismo estatal, tecnoburocrtico nesse momen-
to que o modelo de subdesenvolvimento industrializado assume suas princi-
pais caractersticas.
Subdesenvolvimento industrializado o nome que melhor define o tipo
de desenvolvimento contraditrio, desequilibrado, excludente, mas dinmico,
que caracteriza uma srie de pases subdesenvolvidos que se industrializa-
ram, alcanaram um grau intermedirio de desenvolvimento econmico,
tecnolgico e cultural, mas se conservam subdesenvolvidos. O subdesenvol-
vimento, neste caso, no se define pelo baixo desenvolvimento das foras
produtivas, mas, fundamentalmente, pelos profundos desequilbrios que di-
videm a economia e a sociedade. De um lado, temos uma minoria consti-
tuda de burgueses e tecnoburocratas que adotam padres de consumo se-
melhantes aos dos pases centrais, enquanto a massa dos trabalhadores tem
um nvel de vida extremamente baixo. Por outro lado, podemos tambm dis-
tinguir na economia um setor produtivo monopolista, onde esto as gran-
des empresas e o Estado moderno tecnoburocrtico utilizando tecnologia
altamente sofisticada, e um setor competitivo de pequenas e mdias empre-
sas, que inclui tambm as reas tradicionais e as reas marginais da po-
pulao.1
No final da Segunda Guerra Mundial e ainda nos anos 50, imaginava-
se que a industrializao terminaria com o subdesenvolvimento. Mas, no incio
dos anos 70, quando o subdesenvolvimento industrializado definido e ana-
lisado por uma srie de economistas brasileiros (Celso Furtado, Maria da
Conceio Tavares, Jos Serra, Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faletto,
Antnio Barros de Castro, Paul Singer, Edmar Bacha, Pedro Malan, entre ou-
tros), percebe-se que a industrializao no eliminava necessariamente o sub-
desenvolvimento.2 Mantinha-o medida que mantinha a pobreza, a fome, a
doena e o analfabetismo em amplos setores da populao.
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 71
A economia brasileira talvez o caso mais tpico de subdesenvolvimen-
to industrializado. Sua caracterstica fundamental aliar altas taxas de cres-
cimento econmico a um forte processo de concentrao da renda, sem que
isso represente um aumento significativo da taxa de acumulao de capital:
o excedente adicional basicamente utilizado para a compra de bens de con-
sumo de luxo por capitalistas e tecnoburocratas.
No plano poltico, o modelo de subdesenvolvimento industrializado
corresponde ao Estado autoritrio tecnoburocrtico-capitalista, que se ins-
tala no Brasil a partir de 1964. Esse Estado, que substitui a aliana populista
do modelo de industrializao substitutiva de importaes, marcado pela
unidade da burguesia mercantil e industrial (que fora quebrada no perodo
populista) e pela aliana da burguesia com a tecnoburocracia pblica e pri-
vada, civil e militar, e com as empresas multinacionais. Essa aliana s co-
mea a entrar em colapso a partir do final dos anos 70, quando a sociedade
civil, em face da crise econmica, comea a libertar-se da tutela tecnobu-
rocrtico-militar. A prpria burguesia, que fora a grande beneficiria dessa
tutela, comea a p-la em questo, iniciando-se, ento, o processo de aber-
tura poltica.
No plano econmico, taxas de crescimento econmico elevadas, acom-
panhadas de salrios estagnados, embora definidoras do modelo de subde-
senvolvimento industrializado, no constituem novidade histrica nas fases
iniciais de industrializao dos pases hoje desenvolvidos. Nesses pases, quan-
do aumentava a produtividade, o excedente que se produzia em decorrncia
era apropriado pela burguesia para ser aplicado principalmente em bens de
capital. Foi assim que se elevou a taxa de acumulao de capital, garantin-
do-se em seguida um desenvolvimento mais seguro do sistema econmico.
Nas formaes sociais estatais, especialmente na Unio Sovitica, o proces-
so foi o mesmo. E de forma ainda mais decidida, j que o consumo da alta
tecnoburocracia sovitica era mais limitado do que o da alta burguesia e da
aristocracia inglesas, por exemplo.
Nesses pases, o processo de equilbrio entre a oferta e a procura agre-
gadas era garantido por meio da produo de bens de capital e matrias-pri-
mas que produziam mais bens de capital, que produziam mais matrias-
primas e mais bens de capital, e assim por diante, sem necessidade de se au-
mentarem os salrios e o consumo de bens de salrio. Na fase inicial de
industrializao, a produo de bens de consumo e o total de salrios au-
mentavam aproximadamente mesma taxa do crescimento da populao.
Em conseqncia, o aumento da produtividade resultava, ao mesmo, tempo
no aumento dos lucros (ou de excedente estatal, no caso da Unio Sovitica)
72 Luiz Carlos Bresser Pereira
e no aumento dos investimentos, I, mais do que proporcional ao aumento
da renda, Y, resultando, portanto, em um aumento da taxa de acumulao
de capital, I/Y.
J no modelo de subdesenvolvimento industrializado, tratando-se de um
modelo de desenvolvimento dependente em que a presso social no nvel da
burguesia e da tecnoburocracia no sentido de reproduzir os padres de consu-
mo dos pases centrais muito forte, o equilbrio entre a oferta e a procura
agregadas se d por meio do aumento da produo (e consumo) dos bens de
consumo de luxo. Da mesma forma que no caso do desenvolvimento inicial
dos pases centrais, os salrios totais e a produo de bens de consumo b-
sico crescem aproximadamente mesma taxa do aumento da populao,
mantendo-se a taxa de salrios constante. Mas a produo de bens de con-
sumo de luxo, procurados por capitalistas e tecnoburocratas, aumentou.
Produz-se mais bens de capital e mais matrias-primas no para produzir mais
bens de capital e mais matrias-primas, como acontecia nas revolues in-
dustriais dos pases centrais, mas para produzir mais automveis, mais ele-
trodomsticos, mais aparelhos de alta fidelidade, de forma que a taxa de
acumulao no aumenta. Alm disso, como a produo local de bens de
capital e de produtos semi-acabados e matrias-primas necessrios para a
produo de bens de consumo de luxo insuficiente, exigindo a importao
de insumos e mquinas, alm do pagamento de lucros e assistncia tcnica
por meio de empresas multinacionais, torna-se necessrio aumentar as expor-
taes agrcolas ou ento aumentar o endividamento externo. Temos, assim,
um desenvolvimento intrinsecamente desequilibrado, no qual a primazia dada
aos bens de consumo de luxo resulta em no aumentar a taxa de acumula-
o de capital e em provocar o desequilbrio das contas externas do pas.
O subdesenvolvimento industrializado caracteriza-se pela existncia de
dois setores: um monopolista e estatal, onde se localizam as grandes empre-
sas e o Estado e cuja tecnologia sofisticada, moderna, e os mercados, oli-
gopolistas; e um setor competitivo, constitudo por pequenas e mdias em-
presas capitalistas, dos restos de economia de autoconsumo e das populaes
marginais urbanas, geralmente auto e subempregadas.
Entre os dois setores, tende a ocorrer uma troca desigual semelhante
que ocorre no plano internacional entre pases industrializados e pases pri-
mrio-exportadores. As grandes empresas monopolistas, seus capitalistas,
tecnoburocratas, e uma parte de seus trabalhadores mais qualificados tm
lucros, ordenados e salrios mais altos do que as correspondentes remunera-
es no setor competitivo. Isso acontece porque as grandes empresas so
capazes de conservar para si os ganhos de produtividade, no baixando os
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 73
preos e, sim, aumentando lucros, ordenados e salrios (de trabalhadores es-
pecializados) quando aumenta a produtividade. Enquanto isso, as pequenas
empresas e os participantes autnomos do setor competitivo transferem to-
dos os ganhos de produtividade que eventualmente alcancem para o setor
monopolista na forma de preos relativamente mais baixos de seus produtos.
Em sntese, o modelo de subdesenvolvimento industrializado um esti-
lo de desenvolvimento especfico dos pases capitalistas subdesenvolvidos, que,
na segunda metade deste sculo, alcanaram um grau intermedirio de de-
senvolvimento de suas foras produtivas. O subdesenvolvimento industriali-
zado um padro de acumulao contraditrio, que alia industrializao com
concentrao de rendas das camadas mdias para cima. Implica a reprodu-
o dos padres de consumo do centro por uma minoria de burgueses e tecno-
burocratas e a nfase na produo de bens de consumo de luxo. condicio-
nado pela entrada das empresas multinacionais que detm a tecnologia dos
bens de consumo de luxo e pelo surgimento das grandes empresas estatais.
Estas empresas constituem o setor monopolista da economia, que, graas a
um processo de troca desigual com o setor competitivo, transforma-se no setor
dinmico e altamente lucrativo da economia. Apesar da concentrao de ren-
da, entretanto, o subdesenvolvimento industrializado no se traduz em ele-
vao das taxas de acumulao de capital devido nfase dada produo e
ao consumo dos bens de luxo.
NOTAS
1 Desenvolvi amplamente estas idias em Estado e subdesenvolvimento industrializa-
do (Bresser Pereira, 1977).
2 Os trabalhos a respeito de Furtado, Cardoso, Tavares, Mello e Bacha j foram cita-
dos. Ver ainda Antnio Barros de Castro (1969), Tavares e Serra (1971), Paul Singer (1972,
1976), Bonelli e Malan (1976). Anbal Pinto, economista chileno, teve influncias importantes
sobre o pensamento econmico brasileiro nos anos 70. Ver especialmente seu trabalho fun-
damental sobre a heterogeneidade estrutural da economia latino-americana (Pinto, 1970) e
seus trabalhos sobre inflao estrutural (Pinto, 1978).
74 Luiz Carlos Bresser Pereira
Captulo 11
ACUMULAO E DESENVOLVIMENTO
O modelo de subdesenvolvimento industrializado torna-se vigente no
Brasil a partir dos anos 50. Ao contrrio do modelo de substituio de im-
portaes, que vigorava desde 1930, este novo padro de acumulao modi-
fica profundamente a pauta de exportaes do pas. O Brasil, que sempre fora
uma economia primrio-exportadora, passa a exportar cada vez mais pro-
dutos manufaturados. Durante os anos 70, as exportaes de manufatura-
dos e semi-manufaturados j eram superiores s exportaes de produtos
primrios no Brasil, representando 51,9% das exportaes totais em 1980.
Considerando-se apenas as exportaes de manufaturados (excludos os semi-
manufaturados), o crescimento foi tambm extraordinrio: em 1968, repre-
sentavam apenas 9,3% e, em 1980, alcanaram 42% das exportaes totais
do pas.
Na verdade, a economia brasileira, que nos anos 30 acelerava seu pro-
cesso de industrializao via substituio de importaes, nos anos 50, com
a entrada das multinacionais e a interveno crescente do Estado, d um sal-
to qualitativo. Desenvolve-se de maneira explosiva e ao mesmo tempo apro-
funda os desequilbrios e a concentrao da renda.
Uma forma simplificada de abordar essas transformaes comparar a
industrializao do modelo de substituio de importaes, na forma que se
apresentava durante os anos 30 e 40, com a industrializao baseada no
modelo de subdesenvolvimento industrializado a partir dos anos 60 (deixando
os anos 50 como um perodo de transio).
No modelo de substituio de importaes, a tecnologia industrial era
simples e trabalho-intensiva, e as empresas eram relativamente pequenas (ati-
vidades sem grandes economias de escala). No modelo de subdesenvolvimento
industrializado, a tecnologia complexa e capital-intensiva, e as empresas so
muito maiores.
O setor dinmico na velha industrializao o de bens leves de consu-
mo (Departamento II); na nova industrializao, o comando do processo
industrial cabe ao setor de bens durveis de consumo (Departamento III) e,
na segunda metade dos anos 70, quando o modelo comea a esgotar-se e a
entrar em crise, ao setor de bens de capital (Departamento I).
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 75
A liderana empresarial na primeira etapa cabe a empresrios nacionais;
na segunda, s empresas estatais e multinacionais.
O modelo de substituio de importaes voltado para dentro. As
exportaes entram em estagnao e a pauta de exportao permanece inal-
terada, primrio-exportadora. O coeficiente de importaes (importaes em
relao ao produto) cai sistematicamente. Apenas a pauta de importaes se
altera: o Brasil deixa de importar bens de consumo para importar bens de
capital e matrias-primas. J no modelo de subdesenvolvimento industriali-
zado, a economia volta-se para fora. As exportaes crescem e se diversifi-
cam. O pas transforma-se em exportador crescente de manufaturados, ul-
trapassando definitivamente a fase primrio-exportadora. O coeficiente de
importaes cresce, ainda que moderadamente.
Em ambos os modelos de industrializao, a renda se concentra, mas
concentra-se muito mais no segundo padro de acumulao. A razo bsica
para isso simples. No modelo de substituio de importaes, era possvel
favorecer a industrializao tambm via transferncia de renda do setor ex-
portador (caf, principalmente), enquanto no modelo de subdesenvolvimen-
to industrializado, esgotada a possibilidade do confisco cambial sobre o caf
devido queda dos preos internacionais a partir de 1954, s era possvel
extrair renda dos trabalhadores via mais-valia absoluta e relativa.
Os dois modelos levaram ao desequilbrio externo e inflao. Os dois
modelos favoreceram a acumulao em detrimento dos salrios dos traba-
lhadores. Mas em nenhum dos dois a taxa de acumulao cresceu de manei-
ra decisiva, porque o departamento propulsor do desenvolvimento era sem-
pre produtor de bens de consumo: no-durveis no primeiro caso, durveis
no segundo. Apenas no final do modelo de subdesenvolvimento industriali-
zado, em meados dos anos 70, a liderana industrial passou para a indstria
de bens de capital sob encomenda e para as empresas estatais, mas nesse
momento o modelo j estava em crise, na medida em que o Estado tambm
comeava a entrar em crise, como veremos na ltima parte deste livro.
O fato de a taxa de acumulao de capital (formao bruta de capital
fixo) ter alcanado 26,8% em 1975, conforme se pode ver pelo Quadro VII,
deve-se mais ao aumento da utilizao de poupana externa (via dficits na
balana de transaes correntes e conseqente financiamento externo) do que
a um efetivo aumento de poupana.
De qualquer forma, apesar de todos os desequilbrios que iremos exa-
minar, preciso no subestimar o extraordinrio processo de desenvolvimento
econmico pelo qual passou o Brasil nos ltimos cinqenta anos.
76 Luiz Carlos Bresser Pereira
Quadro VII: Taxas de Acumulao e Desenvolvimento
Anos Taxa de Taxa de Taxa de
Acumulao Poupana Crescimento
de Capital Externa do PIB
1970 21,7 1,3 8,3
1971 22,5 2,8 12,0
1972 22,7 2,2 11,1
1973 23,4 1,9 14,0
1974 24,9 5,2 9,5
1975 26,8 4,6 5,6
1976 26,6 3,7 9,7
1977 24,9 2,1 5,4
1978 25,2 3,3 4,8
1979 24,7 4,2 6,7
1980 24,3 4,5 7,9
Obs.: 1) Taxa de acumulao de Capital = Formao Bruta de Capital Fixo/Produto Nacional Bruto.
2) Taxa de Poupana Externa = Saldo do Balano de Pagamentos em Conta Corrente/Produto Nacional
Bruto.
Fonte: Fundao Getlio Vargas, Conjuntura Econmica, janeiro 1982.
O Brasil no foi capaz de criar aqui uma sociedade mais justa, mas sem
dvida criou uma sociedade mais capitalista e mais desenvolvida. At 1930,
o Brasil era um pas agrcola. Entre 1930 e 1960, industrializou-se via subs-
tituio de importaes. Depois de 1960, desenvolveu um parque industrial
poderoso, integrado e tecnologicamente sofisticado. Taxas de crescimento em
torno de 7% ao ano permitiram um grande aumento na produo por habi-
tante, embora a taxa de crescimento da populao tambm fosse excessiva-
mente grande.
importante, entretanto, assinalar que, enquanto a taxa de crescimen-
to da produo se mantinha aproximadamente naqueles nveis, a taxa de cres-
cimento da populao reduzia-se devido principalmente diminuio da taxa
de natalidade. De fato, a taxa de crescimento anual da populao caiu de
2,99% nos anos 50 e 2,89% nos anos 40 para 2,49% nos anos 70. Esta re-
duo foi possvel porque a taxa de natalidade, que era de 43,2 por mil nos
anos 50, caiu para 33,0 por mil nos anos 60, enquanto a taxa de mortalida-
de caa menos acentuadamente de 14,2 por mil para 8,1 por mil. A diferena
entre essas duas taxas resulta no aumento da populao. A diminuio da
natalidade deveu-se principalmente ao processo de urbanizao, j que as
famlias urbanas tendem a ter menos filhos. Em 1940, apenas 37,2% da po-
pulao brasileira era urbana, enquanto em 1980 essa porcentagem j alcan-
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 77
ava 67,6%. Mas deveu-se, tambm, ao surgimento de uma camada mdia
urbana, que tambm limita o nmero de seus filhos. O Quadro VIII resume
a evoluo da populao brasileira.
Em conseqncia desse aumento de renda por habitante, apesar de toda
a concentrao de renda e da marginalizao de uma parcela pondervel da
sociedade, no h dvida de que houve acumulao e desenvolvimento.
Novas classes e novas ideologias surgiram. A burguesia mercantil e la-
tifundiria foi substituda aos poucos pela burguesia industrial, primeiro na
liderana do processo econmico e mais tarde na direo do processo polti-
co. No nvel das camadas mdias, ao lado da pequena burguesia, surgiu uma
nova classe, a tecnoburocracia. A classe operria cresceu, diversificou-se,
assumiu crescente conscincia poltica.
E o processo poltico, que era oligrquico e cartorial at 1930, trans-
formou-se em populista a partir de ento, mas no final dos anos 70, depois
de um interregno autoritrio, havia claras indicaes de que o pas caminha-
va para uma poltica de carter ideolgico.
Quadro VIII: Evoluo da Populao Brasileira
Ano Populao Taxa Mdia Natalidade Mortalidade
(1.000 hab.) Geomtrica por mil por mil
de Crescimento habitantes habitantes
Anual (%)
1872 9.930
1890 14.334 2,01
1900 17.438 1,98
1920 30.636 2,88
1940 41.165 1,49
1950 51.942 2,39 44,4 20,9
1960 70.070 2,99 43,2 14,2
1970 93.139 2,89 38,7 9,8
1980 119.099 2,49 33,0 8,1
Fonte: IBGE
Obs.: As taxas referem-se aos intervalos entre as datas dos censos.
Em todo esse perodo, assistimos transformao do Brasil em uma
economia em que o processo de acumulao de capital torna-se endgeno e
cclico. A dinmica do processo, que no perodo primrio-exportador vinha
de fora, passa a vir de dentro. Embora a economia permanea fortemente
integrada e dependente do sistema capitalista internacional, no qual o Brasil
78 Luiz Carlos Bresser Pereira
j figura como o oitavo mercado em dimenso, o clssico processo de acumu-
lao, sobre-acumulao e crise passa a depender basicamente da prpria
dinmica interna da economia brasileira.
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 79
80 Luiz Carlos Bresser Pereira
Captulo 12
PEQUENA FORMALIZAO DO MODELO
Os mecanismos de concentrao da renda com manuteno da taxa de
acumulao e de troca desigual entre o setor monopolista e o competitivo que
caracterizam o subdesenvolvimento industrializado podero ser melhor com-
preendidos se construirmos um modelo simplificado do sistema econmico
brasileiro.
A economia produz trs tipos de bens finais em trs departamentos: bens
de produo ou de capital, J, produzidos pelo Departamento I; bens de con-
sumo dos trabalhadores ou bens de salrios, B, produzidos pelo Departamento
II; bens de consumo de luxo, V, produzidos pelo Departamento III. Os bens
intermedirios esto includos nos departamentos produtores de bens finais,
principalmente no Departamento I.
Temos trs classes sociais: os capitalistas, que recebem lucros, R, e os gastam
em investimentos I (compra de bens de produo) e em consumo de luxo, Cv;
os tecnoburocratas, que recebem ordenados, O, nada poupam, logo no inves-
tem, e consomem bens de consumo de luxo, Cv; os trabalhadores, que recebem
salrios, W, tambm nada poupam e consomem bens de salrio, Cb.
A produo nacional, Y, pode ser definida:
em termos de renda ou de rendimentos, Yy,
Yy = R + O + W
em termos de produto (oferta), Yp,
Yp = J + V + B
em termos de despesa ou gasto (procura), Yd,
Yd = I + Cv + Cb
Em termos de produto, podemos tambm afirmar que a produo nacio-
nal igual produo do setor monopolista, M, e do setor competitivo, T.
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 81
Podemos, ainda, em nosso processo de simplificao, imaginar que o setor
competitivo produz apenas bens de salrio, enquanto o setor monopolista
produz apenas bens de consumo de luxo e bens de capital.
T=B
M=J+V
Em nosso modelo, sempre para simplificar, o Estado est includo como
produtor nos trs departamentos e compra os trs tipos de bens por meio de
lucros, ordenados e salrios que so considerados antes do pagamento dos
impostos diretos e indiretos. Caso quisssemos incluir explicitamente o Es-
tado, no haveria qualquer dificuldade. Complicaria apenas o modelo. O im-
portante a assinalar apenas que o Estado, enquanto comprador (parte da
demanda agregada) compra muito mais bens de capital e bens de consumo
de luxo do que bens de salrio, quando comparado com o Estado dos pases
capitalistas centrais, mais orientados para despesas de consumo social.
Quanto ao comrcio exterior, ele est excludo do modelo apenas como
medida simplificadora. Veremos mais adiante, entretanto, que o desequil-
brio externo uma constante no modelo de subdesenvolvimento industrializa-
do. Por outro lado, o comrcio externo serve de instrumento equilibrador
adicional entre a oferta e a procura agregadas nos quadros do processo de
concentrao de renda que peculiar ao subdesenvolvimento industrializado,
medida que possibilita a exportao de bens de salrio, que os trabalhado-
res no tm poder aquisitivo para comprar, e a importao dos bens de con-
sumo de luxo e bens de capital destinados tecnoburocracia e burguesia.
O equilbrio esttico deste modelo est garantido, no setor competiti-
vo, medida que a produo de bens de salrio, B, igual aos salrios, W,
que, por sua vez, so iguais ao consumo desses bens, Cb:
B = W = Cb
No setor monopolista, o equilbrio macroeconmico garantido me-
dida que a produo de bens de consumo de luxo, V, mais a produo de
bens de capital, J, igual ao excedente constitudo pela soma de lucros, R,
mais ordenados, O, que, por sua vez, so iguais ao consumo de bens de luxo,
Cv, e aos investimentos, I:
V + J = O + R = Cv + I
82 Luiz Carlos Bresser Pereira
O equilbrio dinmico do modelo e o processo de concentrao de ren-
da, privilegiando a acumulao de capital e, principalmente, o consumo de
bens de luxo, podem ser descritos no Grfico I, em que, na ordenada, temos
a taxa de salrios, W/L, em que L o emprego ou o nmero de trabalhado-
res (nesse modelo de equilbrio, estamos em pleno emprego, de forma que no
necessrio distinguir nmero de trabalhadores de nmero de trabalhado-
res empregados), e o volume de excedente (E = O + R) por trabalhador, E/L,
apropriado por capitalistas e tecnoburocratas. Na ordenada, temos a produ-
tividade ou produo por trabalhador, Y/L.
Grfico I
Vemos por esse grfico que, medida que cresce a produtividade, a taxa
de salrios permanece constante. O volume de salrios e o volume de bens
de consumo dos trabalhadores cresce na proporo em que cresce a popula-
o e, portanto, o emprego. Por outro lado, todo o aumento de produtivida-
de transforma-se em excedente apropriado por capitalistas e tecnoburocratas
na forma de lucros e ordenados, utilizados, principalmente, no consumo de
bens de luxo e, secundariamente, em investimentos.
Este processo dinmico de concentrao de renda pode ocorrer dentro
de um relativo equilbrio entre oferta e procura agregadas porque a elevao
dos ordenados e dos lucros corresponde ao aumento da produo de bens
de consumo de luxo realizada pelo Departamento III e porque os bens de
salrio que excedem o consumo necessrio dos trabalhadores podem ser
exportados. Esse equilbrio perverso ser possvel medida que os trabalha-
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 83
dores, desorganizados poltica e sindicalmente, no tenham capacidade de
reivindicar com efetividade maiores salrios, e medida que a existncia de
um setor monopolista e um setor competitivo permita ao primeiro realizar
uma troca desigual com o segundo, garantindo s suas empresas maiores
lucros e, aos seus tecnoburocratas, altos ordenados.
O equilbrio, entretanto, precrio no apenas por motivos polticos,
mas, tambm, porque a taxa de acumulao no tende a crescer, dada a prio-
ridade atribuda produo de bens de consumo de luxo, ou seja, ao Depar-
tamento III da economia, em detrimento dos Departamentos I e II, e porque
o desequilbrio externo est sempre rondando esse tipo de economia. O pr-
prio desequilbrio externo, por sua vez, funo em grande parte dessa n-
fase dada ao Departamento III, cujos bens, alm de representarem consumo
improdutivo, possuem um alto coeficiente de importao.
84 Luiz Carlos Bresser Pereira
Terceira Parte
OS DESEQUILBRIOS
ESTRUTURAIS
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 85
86 Luiz Carlos Bresser Pereira
Captulo 13
ALTOS LUCROS E ORDENADOS, BAIXOS SALRIOS
Os salrios so, em geral, muito baixos na economia brasileira. A expli-
cao conservadora para o fato simples: os salrios seriam baixos porque a
produtividade baixa, porque o pas pobre.
Essa explicao obviamente incorreta porque absolutamente parcial.
De fato, os salrios no Brasil no podem ser to elevados quanto, por exem-
plo, na Sucia, j que l a produtividade muito maior. Mas poderiam ser muito
maiores se a taxa mdia de lucros das empresas e, principalmente, se os ordena-
dos recebidos pela alta tecnoburocracia do setor pblico e principalmente do
setor privado fossem menores. No Brasil, conforme o Quadro IX demonstra,
a taxa de salrios muito baixa, mesmo quando comparada com a de outros
pases subdesenvolvidos, em que a renda por habitante menor que a brasileira.
Quadro IX: Salrio Mnimo e PIB por Habitante em
Alguns Pases da Amrica Latina
Salrio Mnimo PIB anual por Salrio Mnimo
(cruzeiros) habitante PIB mensal por
(dlares) habitante
Colmbia 8.528,80 789 1,70
Argentina 13.688,62 2.086 1,03
Venezuela 15.938,37 2.464 1,02
Panam 9.549,21 1.526 0,99
Uruguai 10.192,12 1.759 0,91
Chile 8.881,98 1.784 0,78
Peru 4.316,94 1.006 0,67
Brasil* 8.464,80 1.973 0,67
Brasil 5.788,80 1.973 0,46
Fonte: DIEESE.
(*) Os dados referentes aos salrios mnimos referem-se a maro. Entretanto, como o salrio mnimo foi
reajustado em maio de 1981 no Brasil, aparecem as duas cotaes. Apesar de um aumento de 46,2%, a
posio relativa do Brasil no se altera.
Para a taxa de ordenados no existem estatsticas, mas os diferenciais
entre os mais baixos salrios e os salrios mais altos, que de fato so or-
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 87
denados, somados aos lucros (afinal, ordenados e lucros constituem o exce-
dente nos pases subdesenvolvidos), podem ser parcialmente inferidos a par-
tir de uma comparao entre as porcentagens da renda controladas pelos mais
ricos e pelos mais pobres em diversos pases (Quadro X). O ideal seria sa-
bermos o diferencial entre os ordenados de tecnoburocratas mdios (enge-
nheiros, por exemplo) e trabalhadores de salrio mnimo. Certamente, no
Brasil, o diferencial muito maior do que na maioria dos pases. Enquanto,
no Brasil, um executivo mdio (gerente de uma grande empresa) ganhava em
meados de 1981 cerca de 250 mil cruzeiros, o salrio mnimo no Brasil era
de Cr$ 8.464,80. Isto nos d uma relao de cerca de 30 para 1. Se tomsse-
mos os ordenados dos altos executivos, essa relao seria superior a 100. J
em outros pases, tomando novamente os salrios dos executivos mdios,
teramos, em vez de 30 para 1, relaes muito mais baixas. Os dados a esse
respeito so imprecisos, inclusive porque difcil saber qual o grupo de exe-
cutivos que estamos tomando como parmetro, e o prprio salrio mnimo
mais ou menos representativo do salrio-base dos trabalhadores. De qual-
quer forma, essa soluo, que no Brasil estimamos em 30 para 1, seria em
pases como a Frana e o Japo de aproximadamente 12 para 1, enquanto
em pases capitalistas de renda mais bem distribuda, como a Inglaterra e os
pases escandinavos, teramos uma relao de cerca de 5 para 1. Os Estados
Unidos encontrar-se-iam em uma situao intermediria. J nos pases esta-
tais ou de economia planejada, teramos uma relao de 2 a 3 para 1, excluin-
do, como nos demais casos, os ordenados excepcionais. Essas estimativas so
razoavelmente coerentes com os dados do Quadro II, que apresentamos no
incio deste livro, em que os pases aparecem ordenados segundo a maior
concentrao de renda nos 20% mais ricos. O Brasil um dos pases de ren-
da mais concentrada. Isso s possvel quando no apenas os ordenados dos
altos tecnoburocratas, mas tambm e, principalmente, os lucros dos capita-
listas so muito elevados em relao ao salrio-base ou taxa de salrios.
Por outro lado, preciso lembrar que os estudos comparativos internacio-
nais sobre distribuio de renda referem-se sempre remunerao do fator
trabalho. Os lucros certamente no entram nessas estatsticas. Logo, a con-
centrao que essas estatsticas mostram no Brasil, quando comparado com
outros pases, derivada dos diferenciais de salrio, ou, mais precisamente,
do diferencial entre salrios e ordenados.1
Os salrios so baixos no Brasil, portanto, no apenas porque a produ-
tividade mdia da economia baixa, mas porque os ordenados dos tecno-
burocratas so, relativamente aos salrios, muito altos. Resta saber o que
ocorre com a taxa de lucros. Ela tambm alta no Brasil? Para responder a
88 Luiz Carlos Bresser Pereira
essa pergunta, preciso comparar a taxa de lucro ou seja, o lucro sobre o
capital no Brasil com a dos outros pases capitalistas avanados. Essa com-
parao no fcil porque a taxa de lucro varia no s de empresa para
empresa, mas tambm de perodo para perodo, dependendo da fase do ci-
clo econmico. De modo geral, entretanto, pode-se afirmar que, antes da crise
dos anos 80, a taxa de lucro no Brasil era em mdia entre 50 e 100% mais
alta do que nos Estados Unidos. Enquanto as taxas de lucro naquele pas
giravam em torno de 10 a 12%, no Brasil estavam em volta de 15 a 20%.
Recentemente, essas taxas caram no Brasil devido crise econmica, mas
tambm nos Estados Unidos esto caindo. Os salrios, portanto, so baixos
no Brasil tambm porque os lucros so altos.
O fato de que a concentrao de renda no Brasil se deve principalmente
diferena entre salrios dos trabalhadores e ordenados da nova classe m-
dia tecnoburocrtica no surpreendente. De um lado, isso prprio de uma
sociedade dual, subdesenvolvida e industrializada. Para que um setor possa
ser desenvolvido e o outro arcaico preciso que o primeiro disponha
de uma classe mdia que reproduza os padres de consumo do centro. De
outro, h o fator poltico. A classe mdia tem um poder muito maior sobre o
Estado do que a classe trabalhadora. Tem mais poder inclusive sobre os par-
tidos de esquerda, que apia a existncia de uma universidade estatal gratui-
ta, que atende as famlias de classe mdia alta e classe alta, enquanto as uni-
versidades privadas e pblicas no-estatais, pagas, atendem a classe mdia
baixa e algumas famlias trabalhadoras que logram ascender socialmente.
Por outro lado, o processo concentrador da renda ainda no terminou
no Brasil. Conforme demonstra o Quadro X, entre 1960 e 1980 houve um
forte processo de concentrao da renda no pas. Os 50% mais pobres, que
controlavam 17,4% da renda pessoal no Brasil em 1960 (o que j era muito
pouco), passaram a controlar 12,6% em 1980.2
necessrio, entretanto, observar que, nos anos 70, houve uma mudana
em relao s duas dcadas anteriores. Enquanto naquele perodo observa-
se uma perversa relao entre crescimento econmico e concentrao de renda,
a partir dos anos 70 essa relao se inverte. Ser na crise desencadeada a partir
dos anos 80 que a renda voltar a concentrar-se. Conforme observou Lauro
Ramos em seu estudo sobre a distribuio dos rendimentos no Brasil entre
1976 e 1985, entre 1976 e 1981 ocorreu uma tranferncia contnua de ren-
da dos grupos mais ricos para os estratos mais pobres. Com a crise, entre-
tanto, essa relao se inverteu, e a renda voltou a se concentrar.3
Vale a pena observar, por outro lado, que essa concentrao de renda
tem tambm um componente racial. Existe um mito de que no Brasil no existe
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 89
preconceito de cor. Na verdade, o que existe uma grave discriminao eco-
nmica e social contra os negros e mestios. Nos termos do Censo de 1980,
enquanto 24,1% da populao branca economicamente ativa recebia at um
salrio mnimo, para os negros essa porcentagem era de 46,9% e para os par-
dos 43,7%.
Todos esses dados deixam claro que os salrios so baixos no Brasil no
apenas porque a produtividade baixa, mas porque os lucros e os ordena-
dos so excessivamente elevados.
Quadro X: Distribuio da Renda no Brasil (%)
Camadas da Populao Participao na Renda de Salrios
1960 1970 1980
20% mais pobres 3,9 3,4 2,8
50% mais pobres 17,4 14,9 12,6
10% mais ricos 39,6 46,7 50,9
5% mais ricos 28,3 34,1 37,9
1% mais rico 11,9 14,7 16,9
Fonte: IBGE, Censo de 1960, 1970 e 1980.
Mas por que a concentrao de renda to grande na economia brasi-
leira? Por que trabalhadores arcam com todo o nus do subdesenvolvimen-
to, enquanto os tecnoburocratas e capitalistas aumentam sistematicamente
seu consumo de bens de luxo e mantm relativamente estagnada a taxa de
investimentos produtivos?
Isso possvel na economia brasileira porque aqui, ao contrrio do que
acontece nos pases capitalistas desenvolvidos, a fora de trabalho continua
a ser exclusivamente, ou quase, uma mercadoria. Logo, seu preo deve cor-
responder ao nvel de subsistncia, ou seja, ao custo de reproduo da fora
de trabalho. Nos pases desenvolvidos, os trabalhadores conseguiram mudar
essa situao medida que se organizaram em partidos de esquerda (social-
democratas e comunistas) e que se estruturaram sindicalmente. Sua fora de
trabalho j no mais estritamente uma mercadoria. No Brasil, esse proces-
so est ainda em embrio. A teoria dos economistas clssicos sobre os salrios
continua plenamente vigente.
Durante os perodos colonial e primrio-exportador, formou-se no Brasil
uma populao de grandes dimenses vivendo em nvel de subsistncia em
unidades agrcolas de produo mercantil simples ou em grandes latifndios,
ambos relativamente auto-suficientes. O clima tropical, rebaixando o custo
de reproduo da mo-de-obra, facilitou esse processo de aumento-popula-
90 Luiz Carlos Bresser Pereira
cional. A imigrao na segunda metade do sculo XIX e, em seguida, o au-
mento das taxas de crescimento populacional, em funo da reduo das taxas
de mortalidade (resultado principalmente dos avanos da medicina preven-
tiva), produziram uma enorme massa de trabalhadores que vivem fora do setor
especificamente capitalista da economia. Essa uma das bases do nosso sub-
desenvolvimento e dos baixos salrios vigentes no Brasil.
A industrializao, que se acelerou a partir dos anos 30, comeou a
absorver de forma altamente dinmica esse excesso relativo de populao,
apesar da tendncia utilizao de tcnicas modernas intensivas em capital
e poupadoras de fora de trabalho. Essa absoro, entretanto, no tem sido
suficientemente rpida, dada a grande dimenso da populao que vive
margem das atividades organizadas em moldes especificamente capitalistas:
o latifndio mercantil, a pequena produo mercantil urbana e rural e a imensa
massa de trabalhadores urbanos que operam no mercado informal de trabalho.
Em conseqncia, existe ainda na economia brasileira, no campo e nas
cidades, uma ampla porcentagem de trabalhadores subempregados ou de
desempregados disfarados. Esses trabalhadores operam principalmente no
chamado mercado informal de trabalho, constitudo de trabalhadores aut-
nomos ou de assalariados na pequena produo mercantil de carter fami-
liar. Paulo Renato Souza calculou em cerca de 18% a fora de trabalho no-
agrcola empregada em atividades no organizadas como empresas. Por ou-
tro lado, segundo a PNAD 1977, a proporo dos ocupados com rendimen-
tos inferiores ao salrio mnimo no Estado de So Paulo era de 20%. Esse
imenso nmero de subempregados, alm dos desempregados abertos, cons-
tituem-se em um exrcito industrial de reserva e em uma permanente oferta
ilimitada de fora de trabalho. Em conseqncia, torna-se muito difcil para
os sindicatos organizarem-se.
Mas essa dificuldade multiplica-se dado o carter autoritrio, subordi-
nado ao Estado, da estrutura sindical brasileira implantada nos anos 30. O
sindicato nico, reconhecido pelo Estado, o imposto sindical, a proibio, na
prtica, da greve, a possibilidade de interveno do Estado no sindicato quan-
do este se torna incmodo todos esses dispositivos de carter repressivo
(ou ento que visam subornar os dirigentes sindicais e os prprios trabalha-
dores, como o caso do imposto sindical obrigatrio) enfraquecem sobrema-
neira os sindicatos, fazem com que eles sejam na maioria das vezes dirigidos
por pelegos, ou seja, por dirigentes sindicais a servio da classe capitalista.
A organizao sindical permanece, portanto, sem embrio no Brasil,
embora na Grande So Paulo comece a se tornar significativa, principalmente
junto s grandes fbricas da indstria automobilstica, em So Bernardo. Da
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 91
mesma forma, e por razes que escapam ao mbito deste livro, os trabalha-
dores brasileiros ainda no conseguiram organizar-se politicamente em tor-
no de um partido socialista ou social-democrata. E muito menos alcanar o
poder juntamente com fraes de burguesia, nos quadros de um partido so-
cial-democrata, ao contrrio do que j ocorreu nos pases escandinavos, na
Inglaterra, na Alemanha.
Nesses termos, de um lado a fraqueza da organizao sindical e dos par-
tidos socialistas brasileiros e, de outro, a represso do Estado associado bur-
guesia reduzem a fora de trabalho a mera mercadoria, nos termos do capita-
lismo clssico, e mantm os salrios em um nvel muitas vezes subumano.
O salrio mnimo constitui uma base em torno da qual giram os demais
salrios dos trabalhadores no Brasil. Por isso, correto utilizar o salrio m-
nimo como principal elemento para a anlise da evoluo dos salrios no pas.
Ainda em 1978, 60% dos trabalhadores ganhavam at 2 salrios mnimos.
Grande parte dos salrios e a prpria remunerao dos trabalhadores do setor
informal giram em torno do salrio mnimo.
Entretanto, preciso admitir que um nmero crescente de trabalhado-
res vem recebendo mais do que o salrio mnimo. Em conseqncia, o sal-
rio mdio tende a ter uma evoluo mais favorvel do que a evoluo do
salrio mnimo. Os defensores do Governo e da poltica salarial oficial ten-
dem a dar maior nfase a esse fato; seus crticos preferem ater-se evoluo
do salrio mnimo. certo que os salrios mdios so inclusive distorcidos
porque geralmente incluem ordenados dos tecnoburocratas. Mas, apesar dessa
restrio, no h dvida de que o salrio mnimo, embora continue funda-
mental, vem perdendo parte de sua importncia na determinao dos sal-
rios dos trabalhadores. O Quadro XI mostra a evoluo do salrio mnimo
e do salrio mdio no Brasil. Enquanto o salrio mnimo apresenta uma ten-
dncia declinante, o salrio mdio cresce. Mas a produtividade, expressa no
ndice de produto por habitante, cresce mais ainda, mantendo assim a ten-
dncia concentrao de renda.
A tendncia declinante do salrio mnimo interrompe-se em 1974, quan-
do a presso das foras populares, expressas nas eleies gerais desse ano,
obriga o Governo a modificar sua poltica salarial. O crescimento do salrio
mdio, por sua vez, torna-se especialmente significativo a partir de 1972, em
funo das altas taxas de crescimento da produtividade. O PIB por habitan-
te ou produtividade cresce em todo o perodo a uma taxa consideravelmente
maior do que o salrio mdio, o que significa um aumento constante da taxa
de mais-valia ou uma crescente concentrao de renda.
92 Luiz Carlos Bresser Pereira
Quadro XI: ndices de Salrio Mnimo, Mdio e Produtividade
(1957 = 100)
Ano Salrio Mnimo Salrio Mdio PIB
Real Real Per capita
1940 79,9 58,5
1952 80,5 86,2
1953 66,3 85,8
1954 80,6 91,7
1955 90,5 95,1
1956 95,8 95,3
1957 100,0 100,0 100,0
1958 87,0 105,1 104,6
1959 97,4 95,9 107,2
1960 81,8 102,0 114,2
1961 90,9 107,1 122,4
1962 83,0 107,1 125,3
1963 73,1 109,2 123,6
1964 75,4 105,1 123,7
1965 72,4 100,0 123,4
1966 62,0 93,9 124,5
1967 58,7 90,8 126,9
1968 57,4 93,9 137,1
1969 55,2 95,9 146,5
1970 56,2 96,9 154,9
1971 53,8 100,0 170,8
1972 52,8 104,1 185,6
1973 48,4 109,2 205,7
1974 44,4 109,2 219,7
1975 46,4 117,8 232,3
1976 46,1 123,3 259,1
1977 48,0 131,6 269,8
1978 49,5 142,7 280,6
1979 50,8 149,3 303,1
1980 52,5 144,8 312,4
1981 53,7 159,6 300,8
1982 55,0 177,0 297,2
1983 48,4 159,1 281,4
1984 45,7 161,2 287,9
1985 46,2 169,3 305,2
Obs.: O ndice de salrio mnimo inclui o 13 salrio a partir de 1962. O ndice de salrio mdio real
corresponde mdia de 18 sindicatos em So Paulo entre 1957 e 1974.
Fonte: Bacha e Taylor (1980). A partir de 1975, a fonte FIBGE, salrios da indstria de transforma-
o, cujos ndices apresentam pequenas variaes em relao aos da indstria geral, tambm calculados
pela FIBGE. Todos os ndices foram deflacionados pelo ndice de Custo de Vida do DIEESE.
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 93
A mudana de poltica salarial, a partir de 1974, reduz o processo de
concentrao de renda. Os movimentos sindicais melhor organizados, a partir
de 1978, resultam em uma nova lei salarial, promulgada em dezembro de
1979, cujo intuito era claramente distributivo, buscando principalmente re-
duzir os altos ordenados e secundariamente os lucros em benefcio dos sal-
rios mais baixos.
Essa lei, entretanto, embora seja provavelmente uma das causas do au-
mento do salrio mnimo e do salrio mdio real em 1981, quando a econo-
mia j entrava em recesso, no consegue evitar a reduo posterior dos sa-
lrios. De fato, em funo da fora maior da poltica recessiva de ajustamen-
to determinada pelos credores internacionais, a partir de 1982, a renda vol-
ta a concentrar-se. E os salrios mdio e mnimo voltam a cair. A partir de
1984, entretanto, a economia brasileira entra em processo de expanso, e os
salrios mdios reais voltam a crescer. O salrio mnimo real s volta a cres-
cer em 1985.
NOTAS
1 Para uma discusso terica sobre as relaes entre salrios, ordenados e lucros no
processo de desenvolvimento capitalista, ver Lucro, acumulao e crise (Bresser Pereira, 1986).
2 H um grande nmero de trabalhos e pesquisas sobre a concentrao de renda no
Brasil. Ver os livros organizados sobre o assunto, particularmente Pinto (1967), Tolipan e
Tinelli (orgs.) (1975), Camargo e Giambiagi (orgs.) (1991) e o nmero 20(3) de Pesquisa e
Planejamento Econmico. Ver tambm Hoffman (1972), Fishlow (1975), Fiszbein e Ramos
(1993), Barros e Mendona (1993) e Lauro Ramos (1993).
3 Ramos (1993:71).
94 Luiz Carlos Bresser Pereira
Captulo 14
DESEQUILBRIOS REGIONAIS
O subdesenvolvimento industrializado que define a economia brasilei-
ra no caracterizado nem por pobreza generalizada, nem por baixo nvel
tecnolgico e reduzida produtividade do trabalho em todos os setores da
economia, mas por quatro desequilbrios estruturais: (1) a concentrao de
renda, ou seja, os altos lucros e ordenados e os baixos salrios, que acaba-
mos de examinar; (2) os desequilbrios regionais; (3) o desequilbrio entre a
indstria e a agricultura; e (4) o desequilbrio entre o setor monopolista e
estatal e o setor competitivo da economia brasileira. Todos esses desequilbrios
so interdependentes. E claro que poderiam ser mencionados outros, como,
por exemplo, o contraste entre o capital mercantil decadente e o capital in-
dustrial em expanso. Mas, se enumerarmos uma srie muito grande de de-
sequilbrios, acabaremos repetindo a anlise sob ngulos diferentes. E nesse
processo poderemos afinal perder de vista que o desequilbrio bsico est no
monoplio dos meios de produo e da tcnica por uma minoria de capita-
listas e tecnoburocratas.
Examinaremos neste captulo os desequilbrios regionais, dando nfa-
se ao problema do Nordeste. A diferena de riqueza entre o Sul e o Nordeste
brasileiro um fenmeno conhecido, que pode ser avaliado pelos dados do
Quadro XII. Vemos por esse quadro que o Nordeste perdeu posio relati-
va em relao ao Brasil como um todo no apenas em termos de renda in-
terna e de populao, mas tambm (e este o fato mais significativo) em
termos de renda interna por habitante. Houve, sem dvida, crescimento eco-
nmico no Nordeste, mas o desenvolvimento no restante do pas foi clara-
mente maior, apesar de todas as tentativas de se transferir renda para o Nor-
deste via SUDENE.
No incio da colonizao, o Nordeste foi o centro do capitalismo mer-
cantil brasileiro, mas, a partir do sculo passado, o caf e depois a industria-
lizao produziram um diferencial de renda considervel a favor do Sul, e
particularmente de So Paulo.
No final dos anos 50, o fenmeno foi identificado e foi criada a SUDENE
para resolv-lo. Estava claro, ento, que era necessrio industrializar tambm
o Nordeste e, ao mesmo tempo, realizar a reforma agrria, alm de dar me-
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 95
lhores condies para o desenvolvimento da agricultura. Para isso, seria pre-
ciso liquidar com o latifndio mercantil ainda absolutamente dominante.
Quadro XII: Posio Relativa Nordeste/Brasil (%)
Varivel 1949 1959 1970 1980* 1990*
Renda Interna 13,9 14,4 11,6 12,0 13,2
Populao 34,6 31,6 30,3 29,1 28,9**
Renda Interna
por Habitante 40,2 45,6 38,3 41,0 45,6
Fonte: FGV - Contas Nacionais; IBGE - Censos Demogrficos.
* Os dados de renda interna e renda interna por habitante de 1980 e 1990 foram retirados de Kasznar,
Istvan K., Anlise da evoluo do Produto Interno Bruto 1970-1995, FGV/RJ.
** Dados referentes ao ano de 1991.
Em 1930, o problema fundamental do Sul era substituir o capital mer-
cantil, especulativo, pelo capital industrial, produtivo; em 1960, era idnti-
co o problema bsico do Nordeste.
Passados vinte anos, costuma-se dizer que a SUDENE falhou, que no
resolveu os problemas do Nordeste. Essa uma viso parcial do problema. Se
resolver os problemas do Nordeste significava equipar-los, ou quase, ao
Sul, ou, ento, reduzir drasticamente os diferenciais de renda, claro que isso
no aconteceu. Nem podia acontecer. O papel da SUDENE foi o de interromper
o processo de agravamento das diferenas regionais, no de elimin-lo.
certo, entretanto, que houve uma mudana fundamental nos objeti-
vos e mtodos da SUDENE em relao queles propostos por seu idealiza-
dor e primeiro superintendente, Celso Furtado.1 Esse rgo deveria ser um
instrumento de repasse de fundos pblicos para a economia nordestina, com
a participao dos governadores dos respectivos Estados. Na verdade, atra-
vs do artigo 34/18, que estabelecia incentivos na forma de deduo do im-
posto de renda, para as empresas que realizavam investimentos no Nordes-
te, a SUDENE transformou-se no veculo da transferncia de capital indus-
trial do Sul para o Nordeste. As empresas do Sul passaram a instalar filiais
no Nordeste usando a mesma tecnologia do Sul, fortemente capital-intensi-
va, o que redundou em uma baixa absoro de mo-de-obra, em uma regio
em que a populao excedente era enorme. A emigrao para o Sul e, mais
recentemente, tambm para o Centro-Oeste, manteve-se, assim, em nvel ele-
vado. A SUDENE deveria tambm ser instrumento de reforma agrria e de
liquidao do capital mercantil na agricultura nordestina, mas nada foi feito
nessa rea.
96 Luiz Carlos Bresser Pereira
Na verdade, o que se fez foi reproduzir-se, entre Sul-Nordeste, a rela-
o existente entre os pases centrais e o Brasil no mesmo perodo. Por meio
de suas empresas, o Sul facilitava burguesia e nascente tecnoburocracia
nordestina (as camadas mdias de empregados que surgem em toda parte) a
reproduo dos padres de consumo das camadas correspondentes no Sul.
Os trabalhadores foram obviamente marginalizados, a reforma agrria no
foi realizada, o latifndio mercantil manteve-se dominante, procurando as-
sociar-se de todas as maneiras ao capital industrial nascente.
Nesse processo, a denncia da pobreza (real) do Nordeste e do imperia-
lismo (real, mas contraditrio) do Sul foi utilizada pelas classes dominantes
locais com dois objetivos bsicos. Em primeiro lugar, para obter transfern-
cias de fundos do Governo Federal, o que uma condio essencial para se
lograr a reduo dos desequilbrios regionais. Mas em segundo lugar, para,
atravs desse regionalismo, e muito semelhantemente ao nacionalismo bur-
gus, obscurecer e abrandar a luta de classes dentro da prpria regio.
Em qualquer hiptese, porm, est ocorrendo uma transferncia de recur-
sos oramentrios federais do Sul para o Nordeste e o Norte. Mais especi-
ficamente, So Paulo, na sua qualidade de Estado mais rico da Unio, tem sido
a principal fonte de recursos. De acordo com pesquisa do Centro de Estudos
Fiscais da Fundao Getlio Vargas, os residentes em So Paulo, em 1975, trans-
feriram 61% das suas receitas tributrias federais e contribuies trabalhistas
para o resto do pas, enquanto o Nordeste recebeu uma transferncia lquida
do restante do pas de 69% das receitas federais ali arrecadadas.
A transferncia de recursos que afinal se conseguiu do Sul para o Nor-
deste, entretanto, provavelmente no compensou o mecanismo de troca
desigual que tende a ocorrer entre os produtos nordestinos e os produtos
do Sul. Essa transferncia e os incentivos fiscais no foram suficientes para
tornar mais lucrativos os investimentos no Nordeste. As limitaes do mer-
cado nordestino do lado da procura, a baixa integrao industrial e a baixa
qualificao tcnica da fora de trabalho do lado da oferta provavelmente
explicam a menor lucratividade do capital investido pelas empresas do Sul e
Nordeste. Ora, quando no ocorre um diferencial da taxa de lucro conside-
rvel, intil esperar mobilidade do capital para a regio ou setor conside-
rado deficiente.
Em sntese, o planejamento regional, apesar do esforo realizado, no
foi capaz de reduzir o desequilbrio entre o Sul e o Nordeste porque perma-
neceu submetido lgica do capital e no foi sequer capaz de se contrapor
s estruturas mercantis desse capital ainda dominantes no Nordeste. Entre-
tanto, graas s transferncias reais de recursos, impediu que o desequilbrio
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 97
se aprofundasse. E serviu, na maioria dos casos, como mais um instrumento
de dominao da burguesia mercantil e latifundiria local, que lentamente
se transforma em burguesia industrial.
necessrio, entretanto, assinalar que vem ocorrendo um processo im-
portante de modernizao no Nordeste, especialmente em dois estados, Bahia
e Cear, onde elite polticas modernas foram capazes de promover um tipo
de desenvolvimento industrial que aproveita os recursos locais e o custo menor
da mo-de-obra. No caso da Bahia, preciso observar adicionalmente que
foi beneficiada pela instalao de um plo petroqumico e de um forte apa-
relho turstico.2
Em relao s demais regies, o importante a assinalar o desenvolvi-
mento do Centro-Oeste e, em menor grau, da Amaznia que vem ocorren-
do, principalmente aps a inaugurao de Braslia. A expanso da fronteira
agrcola, entretanto, ocorre nos moldes clssicos da acumulao privada. O
papel pioneiro cabe aos posseiros, que abrem a regio, desbastam a mata, es-
tabelecem os ncleos de colonizao. Em seguida, chega o capital, apoiado
no Estado, para expropriar os posseiros. A violncia terrvel. O jaguno e
o policial, a lei e o sistema judicial, associam-se para expropriar os campo-
neses. uma histria j repetida mil vezes na histria da humanidade.
De qualquer forma, importante assinalar que, se a violncia que vem
definindo a questo da terra hoje no Brasil , de um lado, a indicao do
esgotamento da fronteira agrcola, por outro lado tambm a indicao de
um grande desenvolvimento que vem ocorrendo no Oeste e mesmo na Ama-
znia. Com a construo de Braslia e de uma ampla rede de estradas, o Bra-
sil integrou-se, finalmente, no apenas de Norte a Sul, mas, tambm, de Les-
te a Oeste. O cerrado do planalto central est sendo rapidamente incorpora-
do economia brasileira, e a floresta amaznica, embora apresente resistn-
cias maiores, tambm comea a ser integrada.
NOTAS
1 As idias originasi de Celso Furtado sobre o desenvolvimento do Nordeste esto em
A operao Nordeste (1959b). Sobre o Nordeste, o livro clssico de Manuel Correia de
Andrade (1963). Ver tambm Slvio Maranho (org.) (1984), Furtado (1984) e Rmulo de
Almeida (1985).
2 Sobre o desenvolvimento recente do Nordeste, ver Antnio Barros de Castro (1995).
98 Luiz Carlos Bresser Pereira
Captulo 15
AGRICULTURA E INDSTRIA
Discutiu-se muito no Brasil se a agricultura favoreceu ou funcionou co-
mo um obstculo industrializao. A agricultura especialmente o caf
sem dvida teve um papel fundamental na implantao da indstria no
pas: transferiu capital para a indstria, liberou mo-de-obra, proporcionou
divisas, permitiu que o custo de reproduo da fora de trabalho nas cidades
permanecesse relativamente baixo; apenas no criou mercado para a inds-
tria. Mas se a agricultura, entendida como produo agrcola, foi um apoio,
sem dvida uma parte dos latifundirios, especialmente os cafeicultores, fo-
ram um srio obstculo industrializao. O latifndio mercantil exporta-
dor percebeu desde o incio que industrializar significava transferir renda do
campo para a cidade, e se ops firmemente a isto.
O latifndio exportador, cafeeiro, foi vencido nessa batalha. O latifn-
dio orientado para o mercado interno, entretanto, foi vitorioso. Igncio Ran-
gel, alis, considera que esse latifndio, do qual Getlio Vargas foi um repre-
sentante, foi o scio maior do pacto iniciado em 1930, que estimulava a in-
dustrializao. O scio menor era a burguesia industrial, que s agora chega
prxima do poder. A industrializao foi realizada, mas a reforma agrria, que
muitos imaginavam essencial para essa industrializao, deixou de ser feita.
Os setores agrcolas menos comprometidos com a exportao e mais orienta-
dos para o mercado interno j a partir dos anos 30 aliaram-se indstria e
trataram de suprir os alimentos necessrios, alm de manter as exportaes.1
Durante todo o perodo inicial da industrializao brasileira, a agricul-
tura foi marginalizada de qualquer auxlio estatal. Toda a nfase foi coloca-
da na industrializao. Reproduzindo o que aconteceu na maioria dos ou-
tros pases que se industrializaram tardiamente, o Estado funcionava como
veculo de transferncia de renda da agricultura para a indstria. Essa polti-
ca estava basicamente correta. A agricultura, apesar de todas as suas deficin-
cias, era capaz de andar com suas prprias pernas. A indstria infante que
necessitava de suporte.
A partir dos anos 50, entretanto, a agricultura, especialmente no Sul,
passou por um intenso processo de modernizao. Era o capital industrial
que substitua o capital mercantil na produo agrcola. Grande capital em
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 99
certas culturas, como a cana-de-acar, e na pecuria. Pequeno capital, qua-
se pequena produo mercantil, embora muito moderna e mecanizada, em
outras culturas, como a soja.
A partir da segunda metade dos anos 60, o Estado desenvolve um amplo
sistema de crdito agrcola. Os crditos so subsidiados. Crescentemente subsi-
diados. A agricultura, que j havia perdido sua capacidade de transferir renda
para a indstria, passa agora a receber subsdios. No final dos anos 70, o desen-
volvimento agrcola e o desenvolvimento energtico (que passava tambm pela
agricultura, via produo de lcool) tornaram-se uma prioridade nacional.
Entretanto, como demonstra o Quadro XIII, todo o subsdio recebido
pela agricultura para mecanizao, fertilizantes, custeio, no produziu mui-
tos resultados para os produtos de consumo domstico, que, desde o incio
dos anos 60, cresceram a uma taxa muito inferior ao ritmo de crescimento
dos produtos exportveis.2
A partir de 1977, o programa Prolcool, visando substituir a gasolina por
lcool, transformou-se em fator adicional de reduo da oferta de alimentos,
na medida em que as culturas domsticas eram expulsas pela cultura subsidiada
de cana-de-acar.3 Entre 1977 e 1984, a produo por habitante de culturas
domsticas caiu a uma taxa anual de 1,9%, enquanto a produo de culturas
de exportao crescia taxa anual de 2,5% e a de cana-de-acar, beneficia-
da pelos subsdios do Prolcool, crescia taxa de 7,8% ao ano.
Quadro XIII: Desempenho da Agricultura
(taxas anuais de crescimento)
1932/76 1962/76 1968/76
Produo de Exportveis 4,26 6,26 9,09
Produo de Domsticos 4,44 4,00 3,32
Produo Total 4,58 4,80 5,11
Fonte: Mendona de Barros e Graham (1978).
Qual a razo desse mau desempenho agrcola na produo de alimen-
tos para consumo interno? Falta de crdito, falta de mecanizao e de ferti-
lizantes no podem ser apresentadas como causa, j que o suprimento des-
ses elementos aumentou de forma considervel, desproporcional mesmo ao
crescimento da produo agrcola, aps 1965. Toda a poltica agrcola do
Governo baseou-se em mais crdito, mais mquinas e mais fertilizantes. No
faz sentido tambm atribuir o desempenho insatisfatrio da agricultura ao
despreparo dos agricultores ou, ento, s suas caractersticas pr-capitalistas
100 Luiz Carlos Bresser Pereira
ou mesmo capitalistas-mercantis. J vimos que o esprito do capital industrial,
a produtividade, o trabalho assalariado e a extrao de mais-valia por meio
da troca de equivalentes penetram profundamente na agricultura do pas, antes
efetivamente dominada pelo capital mercantil, especulativo, desinteressado
de aumentar a produtividade. A tecnologia agrcola desenvolvida nos vrios
centros de pesquisa em funo das necessidades de uma agricultura tropical
hoje j muito desenvolvida. O domnio dessa tecnologia pelos agricultores
j bastante amplo. Estamos muito longe da agricultura primitiva, caipira,
do incio do sculo, que Lima Barreto e Monteiro Lobato descreveram de
forma to desoladora em suas obras literrias.
Seriam, ento, os preos insuficientes que desestimulariam os agricul-
tores? Essa razo est mais prxima da realidade, especialmente quando se
leva em considerao a instabilidade dos preos. O Governo tem desenvol-
vido uma poltica pouco coerente de preos mnimos, que no d para aten-
der a todos os anseios dos agricultores. No h um processo de descapita-
lizao do campo. O padro de vida das camadas mdias no interior de So
Paulo extraordinariamente alto.
Seria, ento, a falta de reforma agrria que explicaria o mau desempe-
nho da agricultura brasileira? Agora estamos chegando mais prximos da
realidade. Conforme Yoshiaki Nakano demonstrou, h um grande nmero
de culturas que no se adaptam produo por grandes empresas capitalis-
tas.4 Dada a inexistncia de economias de escala em quase todas as culturas
agrcolas, a produo familiar, que, alis, domina a agricultura dos pases
capitalistas centrais, a mais eficiente. E, alm de ser mais eficiente, est dis-
posta a receber menores preos, j que, embora produzindo com as tcnicas
mais modernas, no faz o clculo da renda da terra e calcula em nveis mui-
to baixos o retorno (lucro) desejado sobre o investimento.
Ora, o Governo, ao realizar a poltica agrcola que favorece a grande
empresa agrcola, comete um erro grave. Os preos vigentes na agricultura
brasileira orientada para o mercado interno no so, em geral, suficientes para
remunerar de forma considerada satisfatria a empresa agrcola capitalista.
So conhecidos os desperdcios de recursos na Amaznia e no Centro-Oeste
com a tentativa, muitas vezes fracassada depois de ali se enterrarem grandes
volumes de capital, de se criarem grandes empresas agrcolas capitalistas.
Definitivamente, o capital monopolista pode ser eficiente na cidade, mas mal
sobrevive no campo, a no ser em algumas culturas especiais.
Uma segunda razo para o mau desempenho da produo agrcola de
alimentos para consumo interno est na instabilidade dos preos. Alm de
os preos serem, em geral, insatisfatrios para os agricultores, no remune-
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 101
rando seu trabalho (e seu capital) adequadamente, eles so instveis. A pol-
tica de preos mnimos do Governo, em vez de obedecer a uma frmula rgi-
da e estvel (o novo preo mnimo deveria simplesmente corrigir monetaria-
mente o antigo, cujo valor se suporia correto, descontando-se parte do au-
mento de produtividade ocorrido naquele ano), tem sido usada como um
instrumento para estimular ou desestimular certas culturas. O resultado uma
enorme insegurana do produtor.
H, entretanto, uma terceira razo fundamental para o mau desempe-
nho agrcola que jamais mencionada, embora seja bvia: a agricultura orien-
tada para o mercado interno no se desenvolve satisfatoriamente pela simples
razo de que no encontra mercado. Os preos no so remuneradores ape-
nas porque a competio da pequena produo mercantil no busca lucros e
renda da terra, mas apenas a sobrevivncia em nvel adequado da famlia,
mas tambm porque o mercado para os produtores agrcolas no cresce como
seria desejvel. A produo agrcola no encontra mercado porque, dada a
estagnao dos salrios, a populao no tem poder aquisitivo para comprar.
Em outras palavras, a concentrao da renda, medida que implica no aumen-
tar a capacidade de compra dos que tm fome, uma causa fundamental do
mau desempenho da produo agrcola de alimentos para consumo interno.5
Certamente preciso tambm considerar que a elasticidade-renda da de-
manda de bens agrcolas menor do que 1. Quando aumenta a renda por
habitante em, por exemplo, 5%, a demanda de alimentos dever crescer em
3%. Este um fenmeno universal. No Brasil, entretanto, a elasticidade-renda
da demanda de alimentos, geralmente calculada em 0,6, baixa demais, haja
vista o fato de que existem amplos setores da populao claramente subnu-
tridos, passando fome. S a alta concentrao de renda pode explicar essa
elasticidade-renda da procura de alimentos to baixa. Quando aumenta a
renda dos ricos, natural que seu consumo de alimentos aumente muito me-
nos do que proporcionalmente.
Acrescenta-se a isso o fato de que houve uma mudana nas preferncias
de consumo dos trabalhadores com o aparecimento da televiso. Eles prefe-
rem comer menos para poder comprar seu televisor, transformado, muito com-
preensivelmente, em objeto de primeira necessidade para famlias extrema-
mente carentes de oportunidades de divertimento e fantasia.
A agricultura s poder ter um bom desempenho, s poder aumentar
fortemente no s sua produo por trabalhador e por rea (que, alis, tem
aumentado razoavelmente), mas tambm sua produo por habitante, se hou-
ver procura efetiva, se os trabalhadores, alm de terem fome, tiverem renda
para comprar.
102 Luiz Carlos Bresser Pereira
Nos ltimos anos, a insuficincia da produo agrcola tornou-se mais
marcante no apenas porque houve erros na poltica de preos mnimos e
porque algumas safras foram prejudicadas por condies climticas, mas,
tambm, porque a taxa de salrios deixou de diminuir. Em conseqncia,
comeou a aumentar, ainda que lentamente, a procura interna de alimentos.
claro que, se essa tendncia elevao dos salrios se mantiver, a agricul-
tura para consumo interno certamente ter um grande desenvolvimento, por-
que a resposta da agricultura ao aumento da procura efetiva ser imediata.
Deixo de examinar em captulo especial o quarto desequilbrio estrutu-
ral, referido no incio do captulo 22 o desequilbrio entre o setor compe-
titivo e o setor monopolista , porque o seu mecanismo bsico de transfe-
rncia de excedente, a troca desigual, j foi analisado.
Entretanto, vale mencionar que tanto o desequilbrio regional quanto o
desequilbrio entre cidade e campo so agravados pelo mecanismo da troca
desigual. A maioria das empresas no Nordeste, assim como a maioria das
unidades produtoras agrcolas, devem ser consideradas no setor competitivo
da economia. Sofrem, assim, uma suco de excedente por parte das empre-
sas monopolistas. O caso das empresas monopolistas fornecedoras de insumos
e mquinas para agricultura ou compradoras da produo agrcola conhe-
cido e ilustra a troca desigual estabelecida por meio de preos altos recebi-
dos pelas empresas monopolistas, e relativamente baixos recebidos pelas em-
presas competitivas.
NOTAS
1 Ver Rangel (1957, 1981).
2 Ver a respeito, de Joo Sayad (1984), O crdito rural no Brasil.
3 O Prolcool foi um dos maiores exemplos de intervencionismo voluntarista sobre a
economia, na medida em que o custo do lcool sempre foi menor do que o da gasolina. So-
bre o grande equvoco de poltica econmica que constituiu o Prolcool, ver Mello e Fonse-
ca (1981), Mello e Pelin (1984), Barzelay (1986), Borges, Freitag, Hurtienne e Nitsch (1988).
O trabalho clssico sobre a agro-indstria canavieira de Tams Szmerecsnyi (1979).
4 Ver A destruio da taxa de lucro e da renda da terra na agricultura, em que Nakano
(1981) critica a viso clssica da penetrao do capitalismo no campo, atravs da destruio
da economia camponesa, e mostra como uma pequena produo semi-capitalista, mas, alta-
mente tecnificada, tem ainda hoje um papel importante na agricultura moderna.
5 A poltica agrcola brasileira sofreu uma mudana fundamental em 1987, quando
deixou de se basear em crdito agrcola subsidiado e passou a se apoiar em garantias de pre-
os aos produtores. Guilherme da Silva Dias, no Ministrio da Agricultura, e Yoshiaki Nakano,
no da Fazenda, tiveram um papel decisivo nessa mudana. A partir de ento, o desempenho
da agricultura melhorou consideravelmente.
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 103
104 Luiz Carlos Bresser Pereira
Captulo 16
DUALISMO E TECNOLOGIA
Alm dos principais desequilbrios estruturais que acabamos de anali-
sar concentrao de renda, disparidades regionais, desempenho agrcola
insatisfatrio, troca desigual entre o setor monopolista e o competitivo , a
economia brasileira possui ainda um desequilbrio bsico: a heterogeneida-
de e o subdesenvolvimento tecnolgico.
A heterogeneidade tecnolgica, ou seja, a coexistncia de tcnicas ex-
traordinariamente modernas e sofisticadas com tcnicas tradicionais, refle-
te-se na existncia de um setor monopolista e de algumas reas do setor com-
petitivo com altas taxas de produtividade, ao lado de amplas reas do setor
competitivo, especialmente a parte informal do mercado de trabalho, cons-
titudo de microempresas tpicas da pequena produo mercantil e de uma
infinidade de trabalhadores autnomos urbanos, em que a taxa de produti-
vidade baixssima.
A heterogeneidade estrutural das economias latino-americanas, que An-
bal Pinto analisou em artigos pioneiros, uma das bases do modelo de sub-
desenvolvimento industrializado. Na verdade, heterogeneidade estrutural
outra expresso para o dualismo ou desequilbrio estrutural no nvel tecno-
lgico que caracteriza as economias subdesenvolvidas como a brasileira.
A teoria do carter dualista das economias subdesenvolvidas foi forte-
mente combatida no Brasil aps 1964, medida que, por meio desse com-
bate, os intelectuais de esquerda (mas no marxistas-leninistas ou ortodoxos),
entre os quais me incluo, pretendiam atingir dois objetivos. Em primeiro lu-
gar, pretendia-se fazer uma autocrtica da proposta populista, endossada pela
quase totalidade da esquerda nos anos 50, de aliana dos trabalhadores com
a burguesia nacional (setor moderno) contra a oligarquia agrrio-mercantil
com resqucios feudais (setor tradicional). Em segundo lugar, o objetivo era
criticar a ideologia do desenvolvimento conservadora a chamada teoria
de modernizao , que pretende reduzir o problema do subdesenvolvimento
a uma falta de capitalismo e identificar o desenvolvimento com o proces-
so de reproduo, na periferia, da sociedade capitalista norte-americana, ou,
como sugere Celso Furtado, com a simples reproduo dos padres de con-
sumo dessa sociedade.
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 105
De fato, a teoria dualista do subdesenvolvimento prestou-se ao equvoco
de imaginar a possibilidade de uma associao entre a burguesia local (chama-
da nacional) e os trabalhadores, quando fatos novos, no final dos anos 50,
haviam tornado totalmente invivel esse tipo de aliana poltica. Nesse sen-
tido, levou as esquerdas e os trabalhadores ao erro estratgico de aceitar uma
aliana com uma criao terica ou ideolgica: a burguesia nacional. E
serviu tambm de suporte s teorias modernizadoras (conservadoras) do sub-
desenvolvimento.
Mas essas distores ideolgicas no retiram o carter objetivamente dual
da economia brasileira. Dual porque: (a) heterognea tecnologicamente; (b)
desequilibrada em termos de mercado (um setor monopolista, outro compe-
titivo, um setor formal, outro informal); (c) contraditria em termos de for-
mao histrica (o capital industrial suplantando mas ainda convivendo com
o capital mercantil); e (d) marcada pela distino radical entre os muito ri-
cos e os muito pobres.
Esse dualismo da economia brasileira, conforme demonstrou Igncio
Rangel, algo de intrnseco e define o prprio subdesenvolvimento industria-
lizado brasileiro. No se trata de falta de capitalismo, como pretende a teo-
ria da modernizao, mas de uma forma distorcida de penetrao do capi-
tal na produo. Em vez de penetrar de forma relativamente homognea e
integrada, como aconteceu nos pases centrais, o capital mercantil e depois
o capital industrial introduzem-se na economia de forma concentrada e ex-
ploratria. Na poca do capital mercantil, ser o latifndio, e no a peque-
na produo mercantil, a forma especfica e contraditria de manifestao
desse capital. No perodo atual, marcado pelo capital industrial, este j pe-
netra e se assenhora da economia na sua forma monopolista, concentrada,
utilizando tecnologia altamente poupadora de fora de trabalho. Em con-
seqncia, a penetrao desse capital provoca bolses de modernidade na
economia, aos quais se justape, e se subordina ao setor competitivo, par-
ticularmente, o seu subsetor informal. Esse setor informal a rigor pr-ca-
pitalista, medida que caracterizado pela pequena produo mercantil, em
que o trabalho familiar dominante e o trabalho assalariado, secundrio, e
pelo trabalho de autnomos geralmente subempregados. Mais do que uma
relao de justaposio, entretanto, o setor informal mantm uma relao
de subordinao e, portanto, de suporte para o setor capitalista monopolista,
facilitando a acumulao de capital no ltimo. Rosa Luxemburgo demons-
trou esse fato, no incio deste sculo, quando examinou o problema do im-
perialismo. No Brasil, talvez a anlise mais interessante desse processo, por
meio do qual os setores pr-capitalistas interpenetram e se tornam funcio-
106 Luiz Carlos Bresser Pereira
nais no processo de acumulao capitalista foi realizada, por Francisco de
Oliveira. Embora nem sempre muito claro, ele foi capaz de distinguir, na
Crtica da razo dualista, o carter ideolgico da razo dualista do car-
ter objetivamente dualista (e funcional nesse dualismo) da economia brasi-
leira, em vez de simplesmente negar a existncia desse carter dualista como
fizeram muitos economistas e socilogos superficiais ou apressados depois
de 1964.
Uma causa fundamental da manuteno do carter dual da economia
brasileira est, portanto, no carter monopolista e concentrado do capital
industrial. Mas essa heterogeneidade estrutural est tambm basicamente
relacionada com o problema da dependncia tecnolgica. O carter depen-
dente (mais do que interdependente) da economia brasileira definido pela
sua incapacidade de gerar em quantidade suficiente tecnologia prpria. So-
mos obrigados, exceto no caso da agricultura tropical e de certos setores como
o de construo de barragens hidreltricas, a copiar mais do que desenvol-
ver tecnologia. Alm disso, as empresas multinacionais transferem para o
Brasil quase exclusivamente a aplicao de tecnologia. A gerao de tecno-
logia nova fica limitada aos pases centrais, s matrizes das multinacionais.
Diante desse impasse, alguns tecnlogos radicais pretendem desenvol-
ver exclusivamente tecnologia prpria e fechar as portas do pas para as
multinacionais e para a compra de tecnologia.
Semelhante proposta est baseada em um equvoco. Todos os pases que
se desenvolveram tardiamente copiaram tecnologia. uma prtica muito
mais barata. Na verdade, a possibilidade de copiar tecnologia uma das
nicas vantagens dos pases subdesenvolvidos. O problema mais grave
encontrar meios para obrigar as multinacionais a transferir para os tcni-
cos nacionais a tecnologia que j desenvolveram, alm de for-las a gerar
tecnologia internamente.
O fato concreto, entretanto, que a relao marginal produto-capital,
DY/DK, ou seja, a relao entre o aumento da produo nacional quando
aumenta de uma unidade o estoque de capital, tende a ser alta no Brasil. Esse
fato se deve, principalmente, vantagem que temos de absorver tecnologia
j desenvolvida anteriormente. O desafio absorver essa tecnologia pagan-
do o mnimo ou se possvel nada por ela. E, uma vez atingido o nvel da tec-
nologia estrangeira, conseguir, pelo menos em alguns setores, ultrapassar a
quem copiamos. A Alemanha, o Japo fizeram isso. Ns tambm podemos
fazer.1
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 107
NOTA
1 A literatura brasileira sobre poltica industrial e tecnolgica muito extensa. Foi espe-
cialmente importante nos anos 70. Ver, entre outros, Figueiredo (1972), Erber, Arajo J-
nior et al. (1974), Bonelli (1976, 1996), Rattner (1988), Arajo Jnior (1992), Coutinho e
Ferraz (orgs.) (1994), Suzigan (1996), Suzigan e Villela (1997), Tauile (1988, 1997), Erber
e Cassiolato (1997).
108 Luiz Carlos Bresser Pereira
Quarta Parte
OS DESEQUILBRIOS
MACROECONMICOS
AT 1980
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 109
110 Luiz Carlos Bresser Pereira
Captulo 17
CRISES CCLICAS
Alm dos desequilbrios estruturais, que acabamos de analisar, temos
na economia capitalista brasileira os desequilbrios dinmicos ou macroeco-
nmicos relacionados todos, de uma forma ou de outra, com o equilbrio e o
desequilbrio cclicos entre a demanda e a oferta efetivas.
Para compreendermos esses desequilbrios, devemos partir da natureza
do fluxo de capital em uma economia capitalista, nos termos apresentados
originalmente por Marx.
Nas economias primitivas a troca era direta. Ou se produzia para auto-
consumo, ou se trocava mercadoria, M, por outras mercadorias.
MM
Nesse tipo de economia, no havia possibilidade de desequilbrio ge-
ral entre a oferta e a procura. Os desequilbrios setoriais eram rapidamente
resolvidos.
Nas economias pr-capitalistas um pouco mais avanadas, surge o di-
nheiro, D, mas este exclusivamente um meio de troca, uma terceira mer-
cadoria de valor universal.
MDM
Nesse caso, tambm as crises gerais so pouco provveis porque o di-
nheiro exclusivamente um meio de troca. uma mercadoria como as ou-
tras que, por seu valor universal e divisibilidade (o ouro, especialmente), e
til como meio de troca.
Nos dois casos anteriores, o objetivo de quem troca o valor de uso da
mercadoria que pretende adquirir. As mercadorias so trocadas de acordo
com a quantidade de trabalho nelas incorporada e ningum realiza lucro.
Apenas os dois saem ganhando porque a diviso do trabalho (que a base
das trocas) permitiu que cada um se especializasse e produzisse de forma mais
eficiente (com menor custo ou, o que vem dar no mesmo, com menor quan-
tidade de trabalho) a sua prpria mercadoria.
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 111
No caso do capitalismo mercantil, Marx mostra que ocorre uma mu-
dana fundamental: o que interessa ao capitalista mercantil, ao trocar, no
mais o valor de uso, mas o valor de troca das mercadorias. O mercador compra
a mercadoria do campons ou do arteso pelo seu valor-trabalho, mas, gra-
as ao monoplio que o comrcio a longa distncia permite, revende-a por
um preo superior ao valor. Ele comea usando dinheiro para comprar uma
mercadoria com valor de troca e assim pode realizar uma quantidade maior
de dinheiro, D. A diferena entre D e D o lucro comercial ou especulati-
vo, decorrente do deslocamento entre o valor e o preo. O valor de uso fica
como um pressuposto, jamais como um objetivo. O objetivo maior lucro.
D M D
Nesse esquema, como nos anteriores, a crise geral do sistema difcil
porque a produo de mercadorias est ainda fora do sistema capitalista. Ela
feita por camponeses ou artesos. O mercador limita-se esfera de circulao.
No capitalismo industrial, entretanto, a situao muda. O capitalista
comea com dinheiro, D, mas, em vez de comprar mercadorias acabadas de
setores pr-capitalistas, ele compra matria-primas (MP), equipamentos (I)
e fora de trabalho (L). Entra, assim, diretamente na esfera da produo, or-
ganizando-a como empresrio. Com essas trs mercadorias (no caso dos
equipamentos e edifcios, considerando-se o seu desgaste ou depreciao, d),
ele produz mais mercadorias, M, do que comprou. A diferena entre M e
M j no mais o lucro comercial, mas a mais-valia, originada do emprego
da fora de trabalho assalariada, originada do fato de que o valor da mer-
cadoria fora de trabalho menor do que o valor da mercadoria produzi-
da por essa fora de trabalho. Essa mercadoria transformada em dinhei-
ro, e reinicia-se o fluxo do capital, em um nvel mais alto, decorrente da
acumulao ampliada.
112 Luiz Carlos Bresser Pereira
Nesse fluxo do capital industrial, podemos, inclusive, ver as quatro es-
feras bsicas atravs das quais flui o capital (esfera da produo, esfera da
distribuio, esfera da utilizao e esfera da circulao de bens) e os trs ci-
clos do capital (ciclo do capital produtivo, ciclo do capital-mercadoria e ci-
clo do capital-dinheiro).
A esfera da produo a fundamental. O capitalista, a partir de seu
capital constante, compra mercadorias produtivas. Essas mercadorias pro-
dutivas subdividem-se em matria-prima, MP, depreciao das mquinas
compradas (d), alm de novas mquinas e edifcios (I) e fora de trabalho, L.
Organiza, assim, a produo, subordinando o trabalho ao capital, e produz
mercadorias, M, com um valor superior ao das mercadorias compradas, M.
Para realizar essa mais-valia, entretanto, ele precisa vender a mercadoria,
transform-la em dinheiro, D, o qual ele reaplica no processo produtivo,
comprando novas mercadorias produtivas, M. Essa a esfera da produo
que corresponde ao ciclo do capital produtivo.
A esfera da distribuio ocorre juntamente com a da produo e em
funo dela: para produzir, o capitalista compra fora de trabalho, em troca
de determinado salrio, e realiza uma mais-valia, M M. A produo assim
distribuda na forma de mais-valia e salrios. J a esfera da circulao cor-
responde tanto ao ciclo do capital-dinheiro, se pensarmos na circulao de
dinheiro, D D, quanto ao ciclo do capital-mercadoria, se pensarmos na
circulao de mercadorias, M M.
Esse fluxo do capital, entretanto, est sujeito a crises, a desequilbrios
dinmicos, prprios do processo de acumulao ampliada capitalista, por-
que existe uma quarta esfera a ser considerada: a esfera da utilizao; a mais-
valia obtida pelo capitalista deve ser utilizada na forma de consumo, Cs (con-
sumo capitalista), ou na de compra de novas mercadorias produtivas (MPx
+ Ix dx + Lx). O consumo dos trabalhadores no aparece no modelo por-
que igual aos seus salrios que, por sua vez, correspondem compra de fora
de trabalho, L.
O problema fundamental que o capitalista industrial, embora orien-
tado para a produo, conserva o carter mercantil de um especulador. Em
certos momentos, se as perspectivas de lucros no foram consideradas sa-
tisfatrias, ele pode preferir entesourar o dinheiro (que um ativo lquido por
natureza), em vez de reinvesti-lo ou consumi-lo. Ele no pode deixar de con-
tinuar comprando as matrias-primas e a fora de trabalho necessrias para
a produo corrente. Mas pode parar por algum tempo a acumulao, sus-
pender o investimento nesse momento. O dinheiro, alm de meio de troca,
uma reserva de valor, que ele, para se precaver contra a incerteza do futuro
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 113
e especular, prefere guardar de forma lquida, em dinheiro, em vez de imobi-
lizar em investimentos.
Quando caem os investimentos, os produtores de bens de capital e as
construtoras de fbricas e edifcios de escritrio no tm mais para quem
vender. Cai a demanda agregada, cai o emprego, tambm os produtores de
bens de consumo deixam de ter para quem vender. Desencadeia-se a crise
cclica de realizao. Os capitalistas, que antes no queriam transformar M
em novas mercadorias (no queriam comprar bens intermedirios ou inves-
tir), agora no conseguem transformar M em D (no conseguem vender no
mercado todos os bens que produziram).
No Brasil, enquanto o capital mercantil dominava, crises dessa nature-
za no existiam. Ocorriam crises, mas eram mero reflexo das crises interna-
cionais, da baixa do preo do caf ou de outro produto de exportao brasi-
leiro nos mercados internacionais. Foi o que aconteceu em 1930, e em mui-
tas ocasies anteriormente.
Entretanto, a partir dos anos 50, quando o capital industrial j clara-
mente dominante, quando a esfera da produo j est firmemente inserida
no modo capitalista de produo, as crises ou as chamadas flutuaes cclicas
tornam-se endgenas, ou seja, passam a ter sua origem internamente na econo-
mia brasileira, embora possam ser tambm reflexos de crises internacionais.
A primeira crise que ocorre na economia brasileira a de 1962-66, com
seu ponto mais baixo em 1965. A segunda passa a ocorrer a partir de 1974,
aps o fim do milagre 1967-1973 (agravando-se em 1981). Em ambas as
crises, a taxa de crescimento da renda cai verticalmente. Entre 1962 e 1966,
o aumento da renda por habitante fica prximo de zero; a partir de 1974,
a taxa de crescimento volta a cair substancialmente, mas a manuteno das
despesas do Estado, inicialmente atravs do programa do II Plano Nacio-
nal de Desenvolvimento, que logra altas taxas de crescimento para a inds-
tria de bens de capital, permite que o nvel de atividade econmica se man-
tenha em um nvel razovel, embora bem inferior ao perodo imediatamen-
te anterior. A reduo dos investimentos governamentais e a severa conten-
o dos investimentos pblicos, a partir de meados de 1980, entretanto,
agravam a situao, de forma que em 1981 as elevadas taxas de desempre-
go e reduo da produo industrial indicaram que o pas entrou numa grave
recesso.
Em ambos os casos, o fluxo do capital interrompeu-se parcialmente
porque as empresas decidiram investir menos e entesourar mais. Em ambos
os casos, essa reduo dos investimentos decorreu, em parte, da prpria di-
nmica cclica do sistema capitalista. Os investimentos e os lucros haviam
114 Luiz Carlos Bresser Pereira
crescido mais rapidamente do que os salrios, de forma que a partir de certo
momento o consumo no acompanhou a produo de bens de consumo.
Mas, em ambos os casos, a poltica econmica do Governo, procuran-
do corrigir os desequilbrios causados pela sobre-acumulao (inflao e
desequilbrio externo), aprofundou e agravou a crise. De fato, os investimentos
excessivos ocorridos durante o perodo de expanso causaram no apenas
desequilbrio entre a oferta e a procura agregada, mas, tambm, inflao e
desequilbrio nas contas externas do pas. Durante certo perodo, o Governo
continua a estimular a economia e a prolongar o ciclo expansivo, mas, em
seguida, quando os desequilbrios se tornam manifestos, muda de poltica
econmica e provoca a recesso saneadora. Esta pde lograr certa redu-
o na taxa de inflao e nas importaes, mas a um custo econmico e so-
cial muito altos.
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 115
116 Luiz Carlos Bresser Pereira
Captulo 18
AS CRISES DE 1962 E 1974
Para compreendermos a natureza do ciclo econmico, precisamos, pri-
meiro, retornar ao processo de equilbrio macroeconmico. Para que isso
ocorra, necessrio que a produo agregada, Yp, por definio igual ren-
da agregada, Yy = W + O + R + T, ou seja, a somatria de salrios, W, orde-
nados, O, lucros, R (considerados depois de pagos os impostos) e impostos,
T, seja igual demanda agregada, Yd = C + I + G, ou seja, a soma do consu-
mo, C, dos investimentos, I, e da despesa do Estado, G.
Em equilbrio, essa segunda igualdade sempre ocorre. Em termos de
contabilidade nacional, tambm sempre ocorre. Mas em termos de planeja-
mento das empresas e dos consumidores, em termos de intenes de compra,
esse equilbrio pode no ocorrer. Os capitalistas (e secundariamente os con-
sumidores) podem estar eufricos e querer investir (e consumir) mais do que
podem. Nesse caso, logo chegaremos ao pleno emprego e, em seguida, tere-
mos inflao de demanda, porque a demanda agregada ser maior do que a
oferta de bens. Em contrapartida, os capitalistas podero estar pessimistas
quanto s suas perspectivas de lucro. Nesse caso, investiro menos do que
foi produzido, e o resultado ser a crise, os bens sem compradores, o desem-
prego, as falncias.
Os economistas clssicos, baseados em Jean Baptiste Say, diziam que a
oferta cria sua prpria procura, ou seja, que tudo o que produzido se trans-
forma em salrio ou lucros, e toda essa renda necessariamente transforma-
da em compras de bens de consumo ou bens de capital. Marx sugeriu e Keynes
e Kalecki mostraram com preciso que isso no verdade. Que pode haver
uma interrupo no fluxo do capital. Que os capitalistas podem entesourar
seus lucros ao invs de investi-los, esperando dias melhores para realizar esse
investimento. Da decorrem as crises.
Outra forma de mostrar o equilbrio e o desequilbrio atravs do con-
ceito de poupana, S. A poupana igual renda menos o consumo e as
despesas de consumo do Governo, Gc:
S = Yd - C + Gc
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 117
Como a renda igual ao consumo, C, mais as despesas de consumo do
Governo, Gc, mais os investimentos, I, mais as despesas de investimento do
Governo, Gi:
Y = C + Gc + I + Gi
temos que, em equilbrio, o investimento seria sempre igual poupana:
S = I + Gi
Os economistas clssicos e neoclssicos no s acreditavam que esse
equilbrio sempre tendia a acontecer, mas tambm acrescentavam que primeiro
as famlias poupavam e depois investiam.
Keynes e Kalecki mostraram no apenas que o equilbrio no era neces-
srio, dado o carter especulativo, trabalhando sempre com as incertezas dos
capitalistas, mas tambm mostraram que, ao contrrio do que pode parecer,
primeiro se investe, e depois se poupa. A poupana o resduo, o resultado,
no o investimento. E, similarmente, se, atravs de algumas simplificaes (os
capitalistas nada consomem e os trabalhadores nada poupam), fizermos o
investimento igual aos lucros, R, na situao de equilbrio
I=R
concluiremos, com Kalecki, que so os lucros que determinam o investimen-
to e no o inverso.
A explicao simples. A poupana ou os lucros s so um limite para
os investimentos na situao de pleno emprego e plena capacidade. Mas essa
uma situao rara, excepcional. O sistema capitalista opera sempre com certa
margem de desemprego e capacidade ociosa.
Nesse caso, quando os capitalistas esto otimistas quanto suas taxas
de lucro, eles investem. O investimento no apenas aumenta a produo, mas
tambm provoca efeitos multiplicadores sobre a demanda agregada. O novo
investimento implica procura de novos bens, que, para serem produzidos,
implicam a procura de outros bens, que, para serem produzidos, implicam a
procura de outros bens ainda, e assim por diante. A demanda agregada cres-
ce, assim, com o novo investimento. O prprio consumo cresce, mas em uma
porcentagem estvel da renda (funo consumo). Vamos dizer, 80% da ren-
da. O resultado que, se a renda antes do investimento adicional era de 80%,
a poupana (20%, o complemento de 80%) era de 16. Realizado o investi-
118 Luiz Carlos Bresser Pereira
mento, se a renda aumentou para 100, a poupana ter aumentado para 100,
e, em termos contbeis, ser igual aos investimentos (que subiram de 16 para
20) nesse novo nvel de equilbrio.
De acordo com esse modelo keynesiano e kaleckiano muito simplifica-
do, a varivel estratgica o investimento, a acumulao de capital. Se aquele
se interrompe, temos no apenas o estancamento do aumento da produo,
mas a queda dessa produo e, em conseqncia, a queda da poupana.
O importante saber por que mudam as perspectivas de lucro dos
capitalistas, por que eles se tornam subitamente pessimistas e reduzem seus
investimentos.
Tanto em 1962 quanto em 1974, ocorre a reverso do ciclo econmico
porque a indstria de bens de consumo (particularmente a indstria de bens
de consumo durveis liderada pela indstria automobilstica) sobreinvestiu
em relao capacidade de consumo das classes mdias. De um modo geral,
Marx e depois Keynes deixaram muito claro que o subconsumo (ou a so-
breacumulao em relao ao poder aquisitivo dos assalariados) a causa
fundamental da mudana nas expectativas de lucro das empresas no auge do
ciclo e, conseqentemente, da reduo de seus investimentos. A hiptese ge-
ral que sustenta essa teoria a de que os investimentos so basicamente fun-
o dos lucros (e da taxa de lucro esperada) e o consumo funo do total
de salrios (e da taxa de salrios). Na fase de expanso, tanto os salrios
quanto os lucros esto crescendo, mas estes crescem mais rapidamente. Em
conseqncia, de um lado a produo de bens de capital tende a crescer mais
depressa do que a produo de bens de consumo, provocando uma crise de
desproporo no momento em que as empresas produtoras de bens de capi-
tal no encontram mais mercado para suas mquinas e equipamentos ( cla-
ro que a prpria indstria de bens de capital pode se constituir em mercado
para si prpria, mas os limites desse processo so bvios). De outro lado, a
crise de subconsumo pode desencadear-se diretamente, medida que o cres-
cimento de salrios e ordenados mais lento do que os investimentos e, por-
tanto, a capacidade produtiva da indstria de bens de consumo leva direta-
mente elevao dos estoques, reverso das expectativas de lucro, redu-
o nos investimentos e finalmente ao incio da crise.
No Brasil, em 1962, a crise ocorreu por diversos motivos que se soma-
ram: na expanso anterior, houve um crescimento excessivo da indstria de
bens de consumo durveis em relao capacidade de compra das camadas
mdias tecnoburocrticas e burguesas, j que nesse perodo a renda concen-
trava-se apenas na cpula capitalista; em conseqncia, as empresas, de re-
pente, viram-se sem ter para quem vender. Em segundo lugar, esgotava-se o
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 119
modelo de substituio de importaes, e os empresrios no haviam encon-
trado um novo pacote de investimentos para realizar. Em terceiro lugar, ha-
via uma crise poltica no pas que deixava os capitalistas muito inseguros. Em
quarto lugar, o Estado realizava investimentos excessivos durante o Plano de
Metas do presidente Juscelino Kubitscheck, e estava financeiramente falido,
sem condies de manter o ritmo de investimentos governamentais.
Em 1974, as causas em parte se repetem. Embora os ordenados dos
tecnoburocratas estivessem crescendo, os lucros e os investimentos crescem
mais rapidamente, provocando a superproduo. Os salrios, ao contrrio
dos ordenados, no cresciam, mas haviam sido neutralizados por meio do
mecanismo que j descrevemos, de forma que no devem ser importantes no
processo de desencadeamento da crise.
O milagre de 1967-1973 foi um processo de sobreacumulao apoiado
em endividamento externo. A crise do petrleo, com a multiplicao do seu
preo, acelera o processo de endividamento externo do pas e a taxa de in-
flao, ao mesmo tempo que leva o Estado a tomar uma srie de medidas de
carter monetrio principalmente para conter a demanda agregada. Essas
medidas no chegam a provocar forte crise porque, diante das presses capi-
talistas, so logo abandonadas, em uma tpica poltica de stop and go, mas
so obviamente tambm responsveis pela desacelerao da economia. Esta
s no ocorre to drasticamente quanto em 1962 porque, em primeiro lu-
gar, o Estado no estava falido e consegue compensar parcialmente com suas
despesas a queda dos investimentos privados. S a partir de 1977, mais ou
menos, o Estado entra em dficit, considerado tambm o seu oramento mo-
netrio. Em segundo lugar, porque a crise poltica em 1974 e 1977 foi uma
crise muito menos grave do que a de 1962, medida que os capitalistas no
sentiam em jogo a sobrevivncia do prprio regime capitalista.1
A crise s se tornar grave em 1981, mas apenas no plano econmico.
Esse agravamento da crise em 1981 est diretamente relacionado com a po-
ltica violentamente restritiva ento posta em prtica pelo Governo como fruto
de uma imposio dos banqueiros internacionais, que ameaavam decretar
a insolvncia do pas devido ao alto nvel do endividamento externo e aos
desmandos de poltica econmica praticados em 1979 e 1980.
Nas duas crises, houve tambm um problema de ordem financeira, es-
pecialmente na de 1962. O sistema financeiro local no estava preparado para
financiar a longo prazo a acumulao de capital. Em 1974, o sistema finan-
ceiro havia tido um grande desenvolvimento em relao ao de 1962, mas o
financiamento a longo prazo da acumulao continuava fundamentalmente
dependente do Estado. E, em ambos os casos, ser a poltica recessiva do
120 Luiz Carlos Bresser Pereira
Estado, visando restabelecer o equilbrio perdido pela sobreacumulao e o
endividamento externo, o fator a desencadear a crise.
Em ambos os ciclos, o mecanismo da desproporo entre o setor pro-
dutor de bens de capital e o de bens de consumo, que Marx analisou, no se
constitui em mecanismo explicativo da crise. A crise de desproporo um
subtipo da crise de subconsumo que ocorre quando a indstria de bens de
capital cresce mais rapidamente do que a indstria de bens de consumo, pro-
vocando, afinal, capacidade ociosa na primeira. No foi isso, mas exatamente
o contrrio, o que ocorreu nos anos que antecederam 1962 e 1974. Foi a
indstria de bens de consumo durveis que vinha sobreinvestindo, enquanto
a indstria de bens de capital tambm crescia, mas a taxas menores. A des-
proporo entre o crescimento da indstria de bens de consumo e a de bens
de capital devido sobreacumulao na primeira s pode ser causa de crise
indiretamente, medida que leva ao aumento das importaes de bens de
capital e ao desequilbrio da balana comercial. Isso de fato ocorreu nos dois
perodos, mas isso nada tem a ver com a clssica crise de desproporo.
Quadro XIV: Taxa de Lucro e Taxa de Investimento
Ano Taxa de Lucro Taxa de Investimento
1974 21,4 24,9
1975 18,2 26,8
1976 20,8 26,6
1977 18,0 24,9
1978 14,3 25,2
1979 10,7 24,7
Taxa de Lucro: Lucro lquido antes do Imposto de Renda dividido pelo Patrimnio Lquido.
Fonte: Bonelli e Guimares (1981).
Taxa de Investimento: Formao Bruta de Capital Fixo dividida pelo Produto Nacional Bruto.
Fonte: Fundao Getlio Vargas, Conjuntura Econmica, janeiro 1982.
Uma causa clssica das crises econmicas que no ocorreu no Brasil foi
o estrangulamento dos lucros causado pela elevao dos salrios no auge do
ciclo econmico (1961 e 1973). Para que isso ocorresse, seria necessrio sin-
dicatos muito mais poderosos do que os de que dispomos. A taxa de lucro
vem caindo no Brasil desde 1974, mas no devido elevao dos salrios e
sim queda dos investimentos. Por outro lado, a relao inversa tambm
verdadeira: caindo a taxa de lucro, cai a taxa de investimentos privados. Esse
fenmeno pode ser observado no Quadro XIV. A taxa de acumulao de
capital cai menos acentuadamente do que a taxa de lucros porque as empre-
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 121
sas estatais e as multinacionais continuam a investir apesar da desacelerao
da economia, mantendo assim, em parte, a demanda agregada. A queda acen-
tuada na taxa de lucro a partir de 1978 prenuncia a recesso de 1981.
H ainda a explicao da reverso do ciclo baseada na elevao da com-
posio orgnica do capital na fase ascendente do ciclo devido a investimen-
tos altamente capital-intensivos, que elevam a relao capital-trabalho e di-
minuem a relao produto-capital, diminuindo, conseqentemente, a taxa de
lucro. Essa explicao, relacionada com a chamada tendncia declinante da
taxa de lucro, no muito adequada para explicar os ciclos curtos (de dez
anos) em que estamos caminhando. No h dvida, porm, de que esse me-
canismo ajuda a explicar a crise de 1962, porque no perodo anterior houve
no s um grande aumento na intensividade de capital (em relao ao n-
mero de trabalhadores), mas tambm um encarecimento dos bens de capital
importados devido retirada dos subsdios cambiais sua importao exis-
tentes nos anos 50.
NOTA
1 Sobre o milagre, ver especialmente Paul Singer (1973, 1976) e Bacha (1976).
122 Luiz Carlos Bresser Pereira
Captulo 19
O DESEQUILBRIO EXTERNO E A TAXA DE CMBIO
De acordo com a teoria econmica ortodoxa, neoclssica, no haveria
crises. Por meio do mecanismo de preos, o sistema econmico tenderia sempre
ao equilbrio. Quando o desemprego comeasse a se manifestar, prenunciando
uma crise, os salrios cairiam (dada a oferta maior que a procura) e as em-
presas imediatamente passariam a contratar mais trabalhadores. A taxa de
juros tambm cairia nesse momento, estimulando os capitalistas a investir mais
(j que seus lucros previstos seriam bem superiores aos juros a serem pagos).
A realidade mostrou que isto no era verdade, conforme vimos nos dois l-
timos captulos.
Da mesma forma, para os economistas ortodoxos, que atribuem ao
mercado a capacidade mgica de tudo manter em equilbrio, o comrcio ex-
terno de um pas e mais amplamente seu balano de pagamentos tenderiam
sempre ao equilbrio. O mecanismo equilibrador, naturalmente, seria um preo
(como a taxa de salrios e a taxa de juros so preos): o preo das divisas
estrangeiras, ou seja, a taxa de cmbio.
A taxa de cmbio o preo da moeda estrangeira. Fala-se, geralmen-
te, em taxa de cmbio para determinar o preo da moeda mais importante:
na segunda metade deste sculo, o dlar. Mas, na verdade, h uma taxa para
cada moeda estrangeira. A taxa de cmbio (em dlares) corresponde, estru-
turalmente, relao entre os preos de determinada cesta de mercadorias
bsicas no Brasil (em reais) e o preo das mesmas mercadorias nos Estados
Unidos (em dlares). Essa cesta de mercadorias muito difcil de compor
porque deveria corresponder a mercadorias igualmente importantes na pro-
duo nacional dos dois pases. Composta a cesta, se esta custar 120 reais
no Brasil e 100 dlares nos Estados Unidos, a taxa de cmbio deveria ser
basicamente 1,20 reais por dlar. Se a inflao for maior no Brasil do que
nos Estados Unidos, o preo da cesta brasileira de mercadorias aumentar
mais depressa do que o preo da norte-americana, e a taxa de cmbio deve-
r ir aumentando, digamos para 1,30 e 1,40, o que significa que o real es-
tar desvalorizando-se.
A taxa de cmbio efetiva flutua em torno dessa taxa bsica, em funo
da oferta e da procura. A oferta de moeda estrangeira aumenta basicamente
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 123
quando aumentam as exportaes, e a procura, quando aumentam as impor-
taes. Nos pases subdesenvolvidos (e, em grande parte, tambm nos desen-
volvidos), a taxa de cmbio tende a ser controlada pelo Governo. De acordo
com os economistas ortodoxos, entretanto, isto no seria necessrio. O mer-
cado deveria regular tambm a taxa de cmbio.
Quando as importaes fossem maiores do que as exportaes, o real
tenderia a se desvalorizar em relao s demais moedas estrangeiras, ou, para
simplificar, em relao ao dlar. Desvalorizando-se o real, as mercadorias im-
portadas ficariam mais caras, o que desestimularia sua importao, enquan-
to as empresas exportadoras teriam maiores lucros e, portanto, maiores opor-
tunidades de exportar. Aumentariam assim as exportaes, diminuiriam as
importaes, e estaria equilibrada a balana comercial.
O balano de pagamentos uma conta mais complicada. Do lado das
despesas, preciso somar, s importaes de mercadorias, os pagamentos de
fretes, seguros, despesas de turismo, os juros pagos, as remessas de patentes
(royalties), assistncia tcnica e os lucros das empresas multinacionais. Do
lado da receita, preciso somar, s exportaes de mercadorias, as entradas
de investimentos estrangeiros, alm das receitas provenientes dos mesmos itens
acima enumerados, que no caso do Brasil so muito pequenas, exceto para o
turismo. A diferena entre as duas somas ser o dficit ou saldo do balano
de pagamentos, que ter de ser coberto por diminuio (ou aumento) de re-
servas (ouro e divisas estrangeiras) ou por aumento (ou diminuio) do en-
dividamento externo.
O equilbrio do balano de pagamentos, como da balana comercial,
ocorreria automaticamente por meio das variaes na taxa de cmbio.
Infelizmente, no assim que acontece. Todas as tentativas de deixar a
taxa de cmbio dos pases subdesenvolvidos ao sabor do mercado tiveram
sempre as mais desastrosas conseqncias. Hoje ningum mais advoga uma
taxa de cmbio livre. O que se pretende uma taxa de cmbio realista, que
possa sofrer alguma flutuao em funo do mercado, mas que seja firmemente
controlada pelo Banco Central.
O livre-cambismo foi basicamente uma ideologia anti-industrializante,
adotada pela oligarquia agrrio-mercantil aliada ao imperialismo ingls, no
perodo primrio-exportador. Tinha como base a lei das vantagens compa-
rativas do comrcio internacional, apoiada no princpio natural da divi-
so internacional do trabalho entre pases industrializados e primrio-expor-
tadores. Esse livre-cambismo foi liquidado com a tese de Prebisch, ou seja,
com a teoria da troca desigual no comrcio internacional, que justificou teo-
ricamente a necessidade de proteo tarifria (e cambial) indstria local.
124 Luiz Carlos Bresser Pereira
Mas o livre-cambismo falhou por um segundo motivo: h uma tendn-
cia nos pases subdesenvolvidos, inclusive no Brasil, ao desequilbrio de seu
balano de pagamentos e ao endividamento externo crescente. No h taxa
de cmbio desvalorizada que impea que essas tendncias ocorram.
A razo mais geral para isto a de que nestes pases, se eles so din-
micos e esto procurando recuperar o atraso, a taxa de lucro tende a ser
maior do que nos pases centrais. Em conseqncia, possvel aos pases sub-
desenvolvidos apresentarem uma taxa de juros maior do que a prevalecen-
te nos pases desenvolvidos. Nestes termos, os capitalistas locais ou as em-
presas multinacionais aqui instaladas tero interesse em tomar emprestado
internacionalmente o mais possvel, dados os altos lucros previstos, e os
bancos internacionais estaro interessados em realizar os emprstimos, da-
dos os altos juros recebidos. O desequilbrio no balano de pagamentos
inevitvel.
Vale observar que a taxa de lucros tender a ser mais alta na economia
brasileira no apenas porque o capital escasso, mas, principalmente, por-
que a fora de trabalho abundante e barata. Por outro lado, a taxa de juros
tambm ser alta porque, como ensina Marx, os juros no so outra coisa
seno a parte da mais-valia que os capitalistas ativos (empresrios) pagam
aos capitalistas-rentistas pelo uso do seu capital. isto que leva a taxa de juros
a tender a ser menor do que a taxa de lucro e, em geral, a acompanhar suas
flutuaes a longo prazo.
No caso do modelo de subdesenvolvimento industrializado, que carac-
teriza o Brasil desde os anos 50, essa tendncia ao desequilbrio externo ainda
mais acentuada por outra razo: embora no sejam importados, mas produ-
zidos localmente, os bens de consumo durveis possuem alto coeficiente de
importaes. Isto significa que, para produzir localmente um automvel ou
um televisor em cor ou um aparelho de som, necessrio importar uma grande
quantidade de insumos. Por outro lado, a produo de bens de consumo de
luxo, em que se baseou o modelo de subdesenvolvimento industrializado,
destina-se primordialmente ao mercado interno; apenas marginalmente
exportao.
E fcil compreender, ento, por que nos anos 70 a economia brasileira
passou a apresentar no apenas dficits em sua balana de transaes cor-
rentes (o que normal, dada a necessidade de pagar juros sobre a dvida
externa, remessas de lucros sobre investimentos das multinacionais, fretes,
seguros etc.), mas tambm dficits em sua balana comercial (o que incon-
cebvel para um pas subdesenvolvido).
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 125
Quadro XV: O Desequilbrio Externo
Saldo
Ano Exportaes Importaes Saldo (ou dficit) Dvida Dvida/
(US$ milhes) (US$ milhes) (ou dficit em transaes externa exportaes
comercial correntes lquida
1970 2.738,9 2.506,9 232,0 -562,0 4.108,5 1,50
1975 8.669,9 12.210,3 -540,4 -6.712,4 17.130,9 1,98
1980 20.132,4 22.952,2 -2.822,8 -12.807,0 46.934,9 2,33
1985 25.639,0 13.151,0 12.488,0 -700,0 94.643,0 3,70
1986 22.351,0 14.044,0 8.307,0 -4.476,0 104.284,0 4,70
1987 26.224,0 15.016,0 11.208,0 -1.436,0 113.715,0 4,30
1988 33.789,0 14.527,0 19.262,0 4.175,0 104.329,0 3,10
1989 34.383,0 18.266,0 16.117,0 1.033,0 105.417,0 3,10
1990 31.410,0 20.661,0 10.749,0 -3.782,0 113.466,0 3,60
1991 31.620,0 21.041,0 10.579,0 -1.407,0 114.504,0 3,60
1992 36.148,0 20.540,0 15.608,0 6.143,0 112.195,0 3,10
1993 38.592,0 25.467,0 13.125,0 -637,0 113.515,0 2,90
1994 43.579,0 32.656,0 10.923,0 -1.592,0 109.489,0 2,50
1995 46.506,0 49.860,0 -3.354,0 -17.972,0 107.416,0 2,30
1996 47.746,0 53.285,0 -5.539,0 -21.707,0 118.021,0 2,50
Fonte: Banco Central do Brasil.
fcil tambm entender por que correto afirmar que o Brasil, confor-
me mostra o Quadro XV, endividou-se de maneira explosiva nos anos 70 e
na primeira metade dos anos 80, tornando a relao dvida lquida/exporta-
es cada vez maior (dvida lquida igual dvida externa total menos as
reservas em ouro e moeda estrangeira). Nos anos 70, o endividamento deri-
vou de uma poltica deliberada do governo; na primeira metade dos anos 80,
da elevao brutal dos juros internacionais. Em qualquer hiptese, todo esse
endividamento, que megulhava o pas na crise fiscal, serviu em grande parte
para comprar coisas inteis aos trabalhadores. Importavam-se, sem dvida,
matrias-primas e mquinas e no bens de luxo, mas esses insumos eram em
seguida utilizados para a produo daqueles bens de luxo para consumo da
burguesia e da mdia e alta tecnoburocracia.
A relao dvida externa lquida/exportaes um indicador da capaci-
dade de pagamento das dvidas de um pas. O ndice 2 freqentemente con-
siderado um limite. Desde 1977, esse limite foi ultrapassado, revelando o srio
problema representado pelo endividamento externo brasileiro. A nica for-
ma de voltarmos a melhorar essa relao obtermos saldos em nossa balan-
a comercial.
126 Luiz Carlos Bresser Pereira
Em meados dos anos 90, a economia brasileira voltou a apresentar ele-
vados dficits em transaes correntes. A relao dvida externa/exportaes
est novamente aproximando-se do valor limite. A causa dessa deteriorao
recente das contas externas brasileiras foi o aumento das importaes ocor-
rido aps o Plano Real. As importaes j vinham aumentando desde o in-
cio dos anos 90 em decorrncia da abertura comercial. Tiveram novo impul-
so com o aumento do consumo interno ocasionado pela estabilizao da in-
flao e pela valorizao da moeda local.
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 127
128 Luiz Carlos Bresser Pereira
Captulo 20
O DESEQUILBRIO FINANCEIRO
Uma economia capitalista, para operar, necessita de um sistema finan-
ceiro, ou seja, de um sistema de dbitos e crditos. Vimos o endividamento
externo antes de examinarmos o sistema interno de financiamento. Talvez
porque o desequilbrio naquela rea seja mais grave. Mas o desequilbrio fi-
nanceiro interno no menos grave.
Uma economia capitalista antes de mais nada uma economia monet-
ria. Todas as trocas se realizam atravs do uso de moedas. No passado, a moeda
era uma mercadoria particular: principalmente o ouro. Hoje a moeda deixou
de ser mercadoria. um ttulo de crdito. Tem um valor meramente fiducirio,
ou seja, baseado na confiana. A moeda um ttulo emitido pelo Estado dire-
tamente ou atravs dos bancos. E h dois tipos de moeda: a moeda-papel e os
depsitos a vista nos bancos comerciais, que valem exatamente como moeda,
j que podem ser movimentados imediatamente por meio de cheques.
H dois tipos fundamentais de financiamento para as empresas: o finan-
ciamento de capital de giro e o financiamento da acumulao de capital. Alm
disso, h o financiamento dos consumidores.
O financiamento do capital de giro decorre da prtica entre as empre-
sas de comprar e vender a uma prazo que varia em torno de 30 a 60 dias. Se
algum vende a prazo, recebe ttulos que pode parcialmente descontar nos
bancos. O que compra a prazo recebe um financiamento que deve pagar
quando vender sua produo.
O financiamento do capital de giro j existia no capitalismo mercantil.
Todo o sistema bancrio brasileiro foi montado em torno dele, particular-
mente do financiamento da produo e exportao de caf. O sistema ban-
crio brasileiro sempre foi perfeitamente capaz de realizar esse tipo de finan-
ciamento, o qual no implica grande volume de capital de rentistas (ou seja,
de capitalistas inativos). Grande parte do capital necessrio ao financiamen-
to do capital de giro provm das prprias empresas, que vendem a prazo e
no descontam suas duplicatas.
O financiamento ao consumidor foi tambm inicialmente realizado com
o capital das prprias empresas varejistas. A partir dos anos 60, entretanto,
quando foi realizada uma grande reforma no sistema financeiro nacional, o
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 129
crdito direto ao consumidor foi institucionalizado e passou a ser financia-
do por Companhias Financeiras, que emitem letras de cmbio para serem com-
pradas por rentistas. Essa reforma foi uma causa importante para o aumen-
to das vendas de bens de consumo durveis que iriam caracterizar o mila-
gre econmico 1967-73.
O grande problema de um pas capitalista, entretanto, montar um sis-
tema de financiamento a longo prazo para a acumulao de capital. Para que
esse sistema se institua, necessrio no apenas que se criem os mecanismos
formais necessrios, mas tambm e principalmente que haja poupanas dis-
ponveis de rentistas que possam ser transferidas para os investidores. O papel
do sistema financeiro, neste caso, coletar as poupanas dispersas dos rentistas
e transferi-las de forma concentrada para os investidores. Caso isto no seja
vivel, por falta de capital de rentistas disponvel nos bancos, existe uma se-
gunda alternativa que deixar o financiamento da acumulao por conta do
Estado e dos seus bancos de financiamento.
No Brasil, a partir de 1964, todas as tentativas foram feitas no sentido
de se montar um sistema privado de financiamento da acumulao, mas afi-
nal esse financiamento acabou sendo fundamentalmente pblico. Segundo
clculos conservadores de Wilson Suzigan (1976), o Estado, em 1974, foi res-
ponsvel por 72,2% dos financiamentos acumulao de capital.
A inovao institucional fundamental, que serviu de base para o desen-
volvimento do sistema financeiro, foi a correo monetria dos dbitos. Atra-
vs da correo monetria, os aplicadores, em uma economia marcada por
altas taxas de inflao, ficavam garantidos quanto ao retorno do principal
mais uma taxa de juros real. Dessa forma, os rentistas eram estimulados a
aplicar o seu dinheiro a juros, em vez de fazer imobilizaes imobilirias ou
serem levados agiotagem ilegal.
A partir dessa inovao bsica, tentaram-se outras medidas que visavam
desenvolver um sistema de financiamento da acumulao. Tentou-se desen-
volver as bolsas de valores e o mercado de aes. A compra de novas aes
seria uma forma por excelncia de financiamento privado da acumulao.
Criaram-se incentivos aos investimentos em aes. Mas, na verdade, as bol-
sas so muito mais instituies que garantem a liquidez de ttulos (alm de
procurarem legitimar ideologicamente o sistema capitalista por meio da idia
de democratizao da propriedade) do que meios de financiar a acumula-
o. As esperanas nas aes e nas bolsas de valores terminaram com a grande
especulao de 1971.
A outra tentativa foi a criao dos bancos de investimentos. Mas, como
no caso da bolsa de valores, no havia recursos disponveis por parte dos
130 Luiz Carlos Bresser Pereira
rentistas para serem depositados nos bancos de investimentos privados. A
classe dos rentistas ainda pequena no Brasil.
O incentivo fuso de bancos e formao de conglomerados finan-
ceiros foi outra tentativa. Procurava-se imitar a experincia alem e japone-
sa, em que o capital bancrio se fundiu com o capital industrial, sob a hege-
monia do primeiro, formando-se assim o que Marx e Hilferding chamaram
de capital financeiro. Isto foi possvel naqueles pases porque o capital finan-
ceiro, subsidiado pelo Estado, precedeu o industrial. No Brasil, como nos
Estados Unidos ou no Canad, isto no ocorreu. No havia e no h condi-
es para a formao de um capital financeiro no Brasil, apesar das esperan-
as dos grandes bancos, da poltica favorvel desenvolvida pelo Governo e
do vaticnio de certo marxismo-leninismo de que a etapa do capital finan-
ceiro inevitvel. No Brasil, de um lado as tradies mercantis do capital
bancrio eram muito arraigadas e, de outro, o capital industrial j era muito
forte para submeter-se ao capital bancrio. Ambos devero permanecer re-
lativamente independentes um do outro.
Falhando todas as tentativas privatistas, seja as do capitalismo compe-
titivo, como as bolsas de valores, seja as do capitalismo monopolista, como
a dos conglomerados financeiros sob a gide dos bancos, no restou outra
alternativa ao Governo seno transformar o Estado no agente financeiro
fundamental da acumulao. S o Estado tem a capacidade de realizar a
poupana forada necessria.
Para isso, uma srie de fundos de poupana forada foi criada PIS,
PASEP, FGTS etc. ; tais fundos, atravs do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econmico e do Banco Nacional da Habitao, foram repassados
para o setor privado ou utilizados para o investimento das empresas estatais.
Podemos calcular que cerca de 60% dos novos investimentos realizados todo
ano no Brasil so financiados pelo Estado, no considerando, naturalmente,
o financiamento interno das prprias empresas, a partir da reinverso de seus
lucros.
O fracasso da instalao de um sistema privado de financiamento da
acumulao no se deveu, entretanto, apenas falta de capital disponvel por
parte de rentistas. Esta uma causa bsica, estrutural. A grande maioria dos
capitalistas no Brasil ainda so ativos empresrios. Mas h uma segunda razo:
a especulao atingiu graus elevadssimos no mercado financeiro brasileiro.
Grandes lucros foram realizados nesse mercado s custas de lucros e investi-
mentos no setor produtivo.
Dados os grandes incentivos governamentais formao desse merca-
do e ao prprio crescimento da economia brasileira, foi possvel girar um
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 131
volume considervel de crditos e dbitos nesse mercado. Verificou-se, inclusi-
ve, o processo muito normal de aprofundamento do capital, medida que
os dbitos e crditos se multiplicam uns sobre os outros, aumentando o vo-
lume de ttulos de crdito muito mais do que a base real da economia. E o
progresso de formao de capital fictcio, que, em ltima anlise, facilita a
acumulao de capital. Se tomarmos a relao entre o total de ativos financei-
ros no monetrios (depsitos bancrios a prazo, letras de cmbio, letras
imobilirias, Obrigaes Reajustveis do Tesouro Nacional, Letras do Tesouro
Nacional e ttulos estaduais e municipais) e dividirmos pela quantia de dinheiro
(papel-moeda em poder do pblico e depsitos bancrios a vista), temos que
essa relao era de 1,2 em 1972 e em janeiro de 1982 j alcanava 3,8.
Esse aprofundamento financeiro permitiu, sem dvida, uma melhor cap-
tao de poupanas privadas. Mas seus limites so muito claros, j que o Estado
continua a ser o grande agente financiador da acumulao privada. Por outro
lado, foi muito alto o custo para o pas desse desenvolvimento financeiro mar-
cado por especulao desenfreada e pelo aventureirismo, sempre bancados pelo
Estado. Este, para salvar o mercado, garantia o pagamento dos crditos aos
aplicadores individuais, ou seja, aos rentistas, quando as empresas financei-
ras se tornavam insolventes, incapazes de pagar seus compromissos.
Apesar de seus defeitos, especialmente do seu excessivo custo e de seu
carter especulativo, no h dvida de que se constituiu um mercado finan-
ceiro poderoso. E que esse mercado, desde que devidamente controlado, po-
der ser um instrumento importante para o desenvolvimento brasileiro. Para
isto, entretanto, ser essencial que se torne compatvel com taxas de juros reais
consideravelmente mais baixas do que aquelas que vm sendo praticadas na
economia brasileira.
132 Luiz Carlos Bresser Pereira
Captulo 21
A TAXA DE JUROS
O sistema financeiro tem um mecanismo cujo papel , teoricamente,
control-lo: a taxa de juros, ou seja, o preo do dinheiro.
Existem quatro preos bsicos em uma economia capitalista: o preo das
mercadorias ou preo propriamente dito; a taxa de salrios ou preo da mer-
cadoria fora de trabalho; a taxa de cmbio ou preo das moedas estrangei-
ras; e a taxa de juros ou preo do dinheiro.
J examinamos os trs primeiros preos. O preo das mercadorias cor-
responde estruturalmente quantidade de trabalho incorporado em cada bem
e flutua em torno desse valor em funo da oferta e da procura e da tendn-
cia equalizao das taxas de lucro; o salrio, quando seu preo no con-
trolado por sindicatos ou pelo Estado, correspondente ao valor da fora de
trabalho, ou seja, quantidade de trabalho necessria para reproduzi-la.
Tambm varia no curto prazo em torno do seu valor em funo da oferta e
da procura. A taxa de cmbio corresponde, estruturalmente, relao entre
os preos das mesmas cestas ou conjuntos de mercadorias, em suas respecti-
vas moedas, no Brasil e em outros pases. Flutua tambm em torno desse valor
em funo da oferta e da procura. Resta-nos examinar a taxa de juros.
Estruturalmente, a taxa de juros a parte da mais-valia que os capita-
listas empresrios pagam aos capitalistas rentistas para usarem seu dinheiro.
Isto significa que a taxa de juros tende sempre a ser menor do que a taxa de
lucro. A taxa de juros, entretanto, tambm flutua em torno desse seu valor
bsico, em funo da oferta e da procura de dinheiro. Nesse sentido, a taxa
de juros tende a ser mais alta nos momentos de prosperidade, quando a pro-
cura de dinheiro para investimentos e consumo muito alta, e vice-versa.
Nesses momentos, a taxa de lucros tambm estaria muito alta, de forma que
a economia ainda estaria em equilbrio.
Entretanto, a taxa de lucro, especialmente a taxa de lucro prevista pelos
empresrios, flutua muito rapidamente. De repente, pelos motivos que j exa-
minamos no captulo 18, as empresas tornam-se pessimistas em funo de suas
perspectivas de lucro. A taxa de juros, todavia, dever permanecer ainda por
algum tempo alta. Este fato s acelera a queda nos investimentos e a crise.
A taxa de juros, contudo, tende em seguida tambm a cair. Mas no cai
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 133
a zero. Mantm-se sempre positiva porque os capitalistas especuladores esto
sempre querendo manter certa liquidez (dinheiro o ativo lquido por exce-
lncia) para fazer bons negcios que eventualmente surjam. Nesses termos, os
lucros previstos podem ficar durante um bom tempo, no fundo da crise, abai-
xo da taxa de juros. a armadilha da liquidez descoberta por Keynes, que
impede a recuperao automtica da economia via mecanismos de mercado e
exige a interveno do Estado.
Os economistas ortodoxos, sempre acreditando na capacidade milagrosa
do mercado, no aceitam essa teoria da armadilha da liquidez. Alm disso,
acreditam que a taxa de juros tem uma capacidade de regular a economia
muito maior do que de fato ela tem.
Segundo esses economistas, elevar a taxa de juros seria, por exemplo, uma
excelente forma de combater a inflao. Observe-se que estamos falando da
taxa de juros real, deflacionada, que corresponde aproximadamente taxa
nominal de juros menos a taxa de inflao.
A taxa de juros seria elevada por meio da limitao da quantidade de moeda
em circulao. O Estado, atravs dos instrumentos de poltica monetria, pode
controlar at certo ponto a oferta de moeda (ou seja, a quantidade de moeda
em circulao). So quatro os principais instrumentos de controle da oferta de
moeda: (1) depsito compulsrio, ou seja, a porcentagem dos depsitos de seus
clientes que os bancos so obrigados a depositar no Banco Central (quanto maior
esse depsito compulsrio menos os bancos podero emprestar e menor quan-
tidade de moeda); (2) a limitao quantitativa ou a liberao por parte do Banco
Central dos limites percentuais de crdito que os bancos podem conceder em
relao ao ano ou ao ms anterior; (3) a pura e simples emisso ou recolhimen-
to de moeda em funo de dficits ou saldos do tesouro nacional; e (4) as ope-
raes de open market das quais o Governo vende ttulos ao pblico (di-
minuindo a quantidade de moeda) ou recompra os ttulos (aumentando-a).
Para elevar a taxa de juros, o Governo deveria acionar um desses quatro
instrumentos, reduzindo a quantidade de moeda e, assim, aumentando a taxa
de juros. Acontece, entretanto, que o oramento global do Estado (fiscal e
monetrio) est geralmente em dficit, obrigando o Governo a emitir conti-
nuamente dinheiro. A alternativa emisso da moeda, considerado constante
o endividamento externo, a venda de ttulos do Governo ao pblico (open
market). Mas como as poupanas privadas disponveis so reduzidas, o re-
sultado do endividamento interno uma forte elevao na taxa de juros. A
taxa de juros sobe porque o Governo, procurando limitar as emisses, finan-
cia seu dficit atravs da venda de ttulos pblicos, Obrigaes Reajustveis
do Tesouro Nacional (ORTN) e Letras do Tesouro Nacional (LTN).
134 Luiz Carlos Bresser Pereira
Durante os anos 70, a taxa de juros real (taxa de juros nominal descon-
tada a inflao) permaneceu relativamente baixa apesar dos esforos das
autoridades monetrias para elev-la porque o dficit pblico do Governo
podia ser financiado por emprstimos externos. No ocorreu, assim, o pro-
cesso de crowding out, ou seja, de elevao da taxa de juros devido pres-
so do Governo para obter poupanas do setor privado, na medida em que
o financiamento do dficit pblico era apenas subsidiariamente realizado por
meio de financiamento interno. E, dessa maneira, tambm as emisses de
moeda ou a base monetria puderam ser mantidas sob controle, com taxas
de crescimento geralmente inferiores inflao.
A partir de 1979, entretanto, quando a taxa de juros internacional se
eleva devido poltica monetarista do Federal Reserve Bank (Banco Central
dos EUA), a taxa de juros real interna aumenta. E esse aumento torna-se maior
ainda a partir de 1982, quando suspende-se o fluxo de emprstimos exter-
nos e o Governo no tem outra alternativa, j que necessita manter sob con-
trole as emisses de moeda, seno recorrer ao endividamento interno.
Embora os investimentos sejam bem menos sensveis s flutuaes da
taxa de juros do que os modelos macroeconmicos sugerem, quando a taxa
de juros reais passa a girar em torno de 15% ao ano, como aconteceu no Brasil
a partir de 1982, os investimentos so necessariamente afetados. A no ser
que a taxa de lucro esteja excepcionalmente alta, eles preferem aplicar seus
recursos em ttulos do Governo, em vez de investir. A reduo dos investi-
mentos provoca a reduo da demanda agregada, cai a renda e a poupana,
e a economia entra em recesso.
Curiosamente, entretanto, os economistas monetaristas tm um outro
argumento a favor de taxas de juros elevadas. Alm de provocar a reduo
dos investimentos e, por meio da reduo das margens de lucro e principal-
mente da reduo dos salrios reais, lograr a reduo da inflao, o aumen-
to da taxa de juros seria uma forma de estimular a poupana.
Esta tese dos economistas ortodoxos, que foi tambm defendida na eco-
nomia brasileira em diversas ocasies, um dos maiores contra-sensos em
matria de pensamento econmico. Est mais do que verificado que a sensi-
bilidade do consumo taxa de juros mnima. Taxas de juros mais elevadas
podem, no mximo, fazer os rentistas desviarem suas aplicaes de negcios
imobilirios e de pura e simples agiotagem para o mercado regular de ttulos.
O volume de poupana no aumenta com taxas de juros elevadas. Pelo con-
trrio, poder diminuir medida que a elevao dos juros prejudique os in-
vestimentos. J vimos que os investimentos so pouco sensveis taxa de juros,
mas se estas subirem de maneira absurda, como aconteceu no Brasil no incio
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 135
de 1981, elas podero afetar o investimento e toda a atividade econmica (nessa
ocasio, a taxa real de juros chegou em torno de 30% quando o razovel se-
ria entre 5 e 10%). Na verdade, conforme ensinaram Keynes e Kalecki, no
a poupana que determina o investimento, mas o inverso. Quanto maior o
investimento, maior ser a renda e mais se poder poupar dessa renda. Uma
elevao da taxa de juros s estimularia a poupana se estivssemos na excepcio-
nal situao de pleno emprego, quando o aumento dos investimentos no levaria
ao aumento da produo, mas inflao. Sabemos, porm, que esse fato s
ocorre no sistema capitalista no rpido momento do auge do ciclo econmi-
co. Fora desse momento, a elevao da taxa de juros s contribui para esti-
mular a inflao, reduzir a produo e diminuir a poupana macroeconmica.
Na verdade, essa tendncia para se elevar injustificadamente as taxas de
juros na economia brasileira faz parte da luta entre o capital bancrio e o
capital rentista contra o capital industrial e comercial. Quanto maiores fo-
rem as taxas de juros, maior ser a participao na renda das instituies fi-
nanceiras e dos rentistas, em prejuzo, naturalmente, das atividades produtivas.
Isto no significa que haja um conflito intrnseco de interesses entre o
capital bancrio e rentista, de um lado, e o capital industrial, de outro. A
relao mais complexa. O desenvolvimento de um apia o outro, e vice-
versa. Mas no h dvida de que no Brasil, especialmente a partir de 1964,
foi dada uma prioridade muito grande ao setor financeiro. Todo apoio lhe
foi dado. E, atravs de taxas de juros elevadas e de especulao, esse setor
aumentou sua participao na renda nacional de cerca de 4,3% em 1965 para
6,45% em 1973 e 9,3% em 1978. No h dvida de que esse crescimento
exagerado, sem que o sistema ao mesmo tempo se sentisse capaz de financiar
a acumulao de capital atravs de investimentos a longo prazo, realizou-se
em prejuzo de investimentos produtivos. No h sistema capitalista avan-
ado sem um sofisticado sistema financeiro. Mas este desenvolvimento finan-
ceiro no deve ser realizado s custas do desenvolvimento industrial ou apoia-
do em uma concentrao de renda insuportvel como aconteceu no Brasil.1
NOTA
1 Nos anos 90, torna-se dramtico o problema causado por elevadas taxas de juros,
usadas como poltica de estabilizao pelo governo, dadas as dificuldades em se fazer uma
poltica fiscal de corte de gastos. Em muitos casos, o nico instrumento que resta ao Minis-
trio da Fazenda e ao Banco Central para manter o equilbrio da moeda e do balano de
pagamentos a taxa de juros.
136 Luiz Carlos Bresser Pereira
Captulo 22
A INFLAO
Estamos descrevendo a economia brasileira como um padro de acumu-
lao teoricamente em equilbrio o modelo de subdesenvolvimento in-
dustrializado que, a partir da contradio bsica nele implcita, traduz-
se em uma somatria de desequilbrios. Dividimos os desequilbrios em es-
truturais: desequilbrio entre lucro e salrios, entre o setor monopolista e o
competitivo, entre as regies do pas, entre a agricultura e a indstria; e
desequilbrios dinmicos: desequilbrio macroeconmico entre demanda e
oferta agregada provocando ciclos, desequilbrio externo, desequilbrio
financeiro.
A inflao seria um quarto desequilbrio dinmico a ser citado, mas
prefiro consider-la, mais do que isso, o reflexo de todos os desequilbrios.
A inflao o processo de aumento continuado e geral de preos atra-
vs do tempo. um fenmeno universal, que se agravou nos ltimos anos,
medida que os mercados competitivos deixaram de funcionar e passaram a
ser substitudos por mercados monopolistas e cartelizados no s em nvel
nacional, mas tambm em nvel internacional, como o caso do cartel da
OPEP. No Brasil, conforme mostra o Quadro XVI, a inflao revelou uma
tendncia crescente, at 1980, quando (medida pelo ndice Geral de Preos
da Fundao Getlio Vargas) alcanou a taxa de 110,2%. Em 1981, uma forte
recesso logrou reduzir a taxa de inflao, que, no entanto, voltou a se ace-
lerar em seguida. Em 1983, ano da maior recesso da histria brasileira, a
taxa de inflao passou de 99,7% para 211,7% em funo principalmente
de uma maxi-desvalorizao cambial. Nos anos seguintes, a taxa de inflao
continuou a aumentar, ainda que lentamente. No incio de 1986, entretan-
to, estava claro que a inflao inercial brasileira mudaria de patamar, supe-
rando claramente o nvel de 220% dos trs anos anteriores.
Para se compreender o fenmeno inflacionrio, essencial distinguir as
causas da acelerao da inflao das causas da manuteno do patamar de
inflao. E, para cada tipo de causa, geralmente associada a uma teoria, po-
demos dar um nome para a inflao. Nestes termos, as causas aceleradoras
da inflao correspondem (1) inflao monetria, (2) inflao keynesiana,
(3) inflao estrutural e (4) inflao administrada. Por sua vez, quando
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 137
queremos compreender porque a inflao passada se reproduz no presente,
mantendo o patamar de inflao, falamos em inflao inercial ou autnoma.
Quadro XVI: Inflao no Brasil (%)
1986 65,0
1987 415,8
1988 1.037,6
1989 1.782,9
1990 1.476,6
1991 480,2
1992 1.157,8
1993 2.708,2
1994 1.093,9
1995 14,8
1996 9,3
Fonte: FGV/RJ.
A inflao est sempre associada ao aumento da quantidade de moeda
em circulao. Se definirmos M como a quantidade de moeda; V como sendo
a velocidade-renda da moeda, ou seja, o nmero de vezes que uma mesma
moeda em mdia utilizada em uma economia para que se possa produzir
determinada renda nominal; e Y a renda real, a qual, multiplicada pelo ndice
de preos ou de inflao, p, transforma-se na renda nominal, teremos que:
V = Yp
M
A partir dessa definio da velocidade-renda, chegamos imediatamente
chamada equao de trocas:
MV = Yp
Esta equao de trocas uma equao indiscutvel porque definicional.
Definida a velocidade-renda da moeda, V, est definida automaticamente a
equao de trocas. uma equao muito importante porque mostra que
existem relaes necessrias entre as suas quatro variveis. Por exemplo, se
aumenta p, mantidos constantes V e Y, M ter de aumentar.
Entretanto, a partir dessa equao, economistas neoclssicos, que tam-
bm podemos chamar de monetaristas, construram uma teoria muito sim-
ples: a teoria monetarista da inflao. Afirmaram que V uma varivel que
138 Luiz Carlos Bresser Pereira
tende a ser relativamente estvel, j que depende dos hbitos econmicos da
sociedade. Nesses termos, o aumento de p, ou seja, inflao, seria causado
por um aumento de M maior do que o aumento de Y.
A quantidade de moeda aumentaria mais do que a renda porque os
governantes, pressionados pela sociedade e procurando atender a todos, aca-
bam realizando gastos governamentais maiores do que a receita do Gover-
no, resultando em dficit oramentrio a ser coberto por emisses de moe-
das; ou ento porque o Governo, tambm pressionado pelas empresas, aca-
ba permitindo que os bancos concedam emprstimos que se transformam em
depsitos bancrios (e, portanto, em criao de moeda) em um nvel maior
do que o aumento da produo nacional.
No h dvida de que a inflao pode ter esse tipo de causa. Especial-
mente quando os governos so politicamente fracos, sem representativida-
de, sem legitimidade, como acontece nos pases subdesenvolvidos como o
Brasil, fcil entender que eles tendam a gastar ou a deixar que o volume de
crditos aumente mais do que aumenta a renda. Chamemos a isto de infla-
o monetria.
Mas preciso lembrar que a relao causal pode ser inversa. Pode acon-
tecer que, por outros motivos, aumente p, haja inflao e, em decorrncia, o
Governo ou o prprio sistema econmico seja obrigado a aumentar M, san-
cionando o aumento de preos. A oferta de moeda torna-se, ento, endgena,
passiva, conseqncia da inflao ao invs de sua causa.
Na verdade, para poder saber quais so as causas da inflao, preciso
distinguir com clareza trs tipos de fatores: (1) os fatores aceleradores ou
desaceleradores da inflao, tambm chamados de choques de oferta e de
demanda; (2) os fatores mantenedores da inflao, ou seja, o componente
autnomo ou inercial da inflao, que, atravs do conflito distributivo, leva
reproduo no presente da inflao passada; e (3) os fatores sancionadores
da inflao, entre os quais o mais importante o aumento da oferta de moe-
da que, em situao inflacionria, ocorre permanentemente a fim de manter
a liquidez do sistema e impedir a explosiva elevao da taxa de juros real.1
A pergunta quais as causas da inflao? no faz sentido. preci-
so sempre perguntar quais as causas da acelerao da inflao ou ento quais
as causas da inrcia inflacionria, da manuteno do patamar de inflao.
A acelerao da inflao sempre o resultado da ao conjugada ou
isolada dos seguintes fatores aceleradores: (1) aumento dos salrios reais acima
da produtividade, (2) aumentos das margens de lucro das empresas, (3) maxi-
desvalorizao, (4) elevao da taxa de juros real, (5) elevao dos impos-
tos, (6) elevao dos preos dos bens importados.
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 139
Alm da teoria monetarista, que explica a acelerao da inflao por meio
da simples acelerao da emisso de dinheiro, sem ser capaz de relacionar
claramente o aumento de oferta de moeda com aqueles seis fatores acelera-
dores, temos trs teorias que, alternativa ou concomitantemente, explicam a
ao daqueles fatores: (1) a teoria da inflao keynesiana, (2) a teoria da in-
flao estrutural e (3) a teoria da inflao administrada.
De acordo com essas trs teorias, a emisso de moeda mero fator san-
cionador de uma inflao em curso. Dada a inflao, o dinheiro est perden-
do diariamente valor, a quantidade real (deflacionada) de moeda est dimi-
nuindo. O dinheiro, entretanto, essencial para o funcionamento da econo-
mia, o seu lubrificante, que evita as crises de realizao. Para evitar a crise,
para manter a liquidez do sistema, diante de uma inflao em curso, no h
outra alternativa seno aumentar a quantidade de moeda. E, assim, a moeda
torna-se passiva, endgena, um fator sancionador de uma inflao que j
ocorreu em vez de uma causa da inflao.
Inflao keynesiana ou de auge econmico aquela que ocorre quando,
na fase mais alta da prosperidade, atingindo pleno emprego e plena capacida-
de, a demanda agregada continua maior que a oferta, pressionando os pre-
os para cima. Em certos casos, ela se confunde com a inflao monetria.
Os dficits pblicos obrigam o Governo a emitir e ao mesmo tempo levam
a economia para uma situao de presso de demanda, que propicia o au-
mento dos salrios reais acima da produtividade e o aumento das margens
de lucro.
A inflao estrutural, que foi analisada pelos economistas latino-ame-
ricanos, ocorre quando, em determinados setores, a demanda cresce mais
rapidamente que a oferta ou ento a oferta diminui por algum acidente. Em
conseqncia, os preos sobem naquele setor. Se o mercado funcionasse bem,
logo o problema seria resolvido, com importaes, por exemplo, e o preo
voltaria ao seu nvel normal, em torno do valor da mercadoria. Como os
mercados nos pases desenvolvidos no so to flexveis, o aumento da ofer-
ta demora. Em conseqncia, o preo permanece alto por um tempo suficien-
temente grande para obrigar os demais agentes econmicos a tambm aumen-
tarem seus preos caso no queiram ter seus lucros ou seus salrios diminu-
dos. Devido, portanto, a essa demora na correo do desequilbrio, ocorre o
efeito de propagao do aumento de preos.
Finalmente, a inflao administrada aquela que decorre da capacida-
de que tm as empresas monopolistas ou oligopolistas (e tambm os sindica-
tos, nos pases centrais) de aumentarem suas margens e, portanto, seus pre-
os, mesmo que a demanda no esteja maior que a oferta. Quando uma em-
140 Luiz Carlos Bresser Pereira
presa aumenta dessa forma, autonomamente, seus preos, o resultado a
propagao desse aumento de preos para os demais setores como uma me-
dida de defesa. Caso contrrio, tero sua participao na renda diminuda.
E est desencadeada a inflao. Temos tambm inflao administrada quan-
do as empresas oligopolistas conseguem manter suas margens em uma situa-
o recessiva na qual a reduo da procura agregada deveria, em princpio,
causar a reduo das margens de lucro e, em conseqncia, dos preos. Nes-
te caso, a inflao administrada torna-se a principal responsvel pela manu-
teno do patamar de inflao ao invs de contribuir para sua elevao.
Os quatro tipos de inflao, ou de teorias explicativas da acelerao
inflacionria, podem perfeitamente conviver e se somar. importante, en-
tretanto, assinalar que a inflao administrada o fato novo em matria de
inflao, o fato historicamente novo porque o capitalismo monopolista e
cartelizado da atualidade um fenmeno relativamente recente e cada vez
mais dominante.
Alm disso, preciso observar que a inflao administrada (tambm
chamada impropriamente de inflao de custos) a nica inflao compat-
vel com a estagflao, ou seja, com a combinao de estagnao econmica
e inflao. Os outros trs tipos de inflao so inflaes de demanda, que
ocorrem em perodos de prosperidade.
Ora, as taxas de inflao cresceram fortemente no apenas na economia
brasileira, mas tambm em todo o mundo. Por outro lado, a estagflao um
fenmeno dos ltimos vinte anos. No Brasil, ocorreu inicialmente na crise 1962-
66, conforme Igncio Rangel analisou de forma pioneira. fcil, portanto,
concluir que a inflao administrada provavelmente a causa mais atuante
da acelerao da inflao em todo o mundo e no Brasil em particular.
A inflao administrada pode ser responsvel no apenas pela elevao
das taxas de inflao, mas tambm, e principalmente, pela manuteno da
taxa de inflao nos nveis ou patamares que forem sendo atingidos. Em outras
palavras, a administrao de preos est na base da inflao inercial, da ca-
pacidade que tm os agentes econmicos de repassar automaticamente os
aumentos de custos para os preos. Uma vez atingido determinado patamar
de inflao, a administrao de preos por parte das empresas torna extre-
mamente difcil baixar esse patamar. Isto se deve capacidade que as em-
presas tm de transferir integralmente seus aumentos de custos para os pre-
os, mantendo intacta a margem de lucro, ou seja, a porcentagem de lucro
sobre o custo. A taxa de inflao s pode comear a cair se algumas empre-
sas forem levadas a reduzir suas margens, seja em funo das condies de
mercado (recesso) ou do controle dos preos pelo Estado. A poltica de pre-
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 141
os fundamental das empresas oligopolistas consiste exatamente em manter
fixas suas margens de lucro, tornando assim extremamente rgida para bai-
xo a taxa de inflao. A inflao administrada s causa do aumento das
taxas de inflao quando as empresas aumentam suas margens. Ela, entre-
tanto, sempre causa da manuteno dos patamares de inflao medida
que as empresas mantm fixas suas margens de lucro.
Naturalmente, o carter inercial da inflao se deve tambm indexao
da economia. Enquanto os setores oligopolistas administram seus preos, o
Estado estabelece formalmente normas que garantem a automtica indexao
dos salrios, do valor dos ativos financeiros e dos respectivos juros, dos alu-
guis, dos preos dos servios pblicos. Mas, mesmo que no houvesse essa
indexao formal, a economia, dada a existncia de altas taxas de inflao,
no teria outra alternativa seno indexar-se informalmente. Na verdade,
quanto mais alta for a taxa de inflao, mais alto ser seu componente inercial.
Por outro lado, voltando ao problema da emisso de moeda e da infla-
o monetria, preciso observar que, alm de fator sancionador de uma
inflao inercial em curso, j vimos que pode tambm ser fator acelerador,
se as emisses de moeda visarem financiar um dficit pblico crescente, em
situao de pleno emprego. Neste caso, a teoria keynesiana da inflao pode
ser somada monetarista para explicar a acelerao inflacionria.
Mesmo neste caso, entretanto, no se deve entender a emisso de moe-
da como um fenmeno meramente exgeno, como pretendem os monetaristas.
Ela pode ser encarada como um processo endgeno, como um fenmeno que
resulta das deficincias do controle da economia pelo mercado e das novas
funes que o Estado foi obrigado ou pressionado a assumir na sociedade.
J vimos que houve mudana fundamental no papel do Estado no pla-
no econmico. Estamos muito longe do Estado liberal, do Estado do laissez-
faire. O Estado hoje considerado por todos como principal responsvel pelo
bem-estar e pelo desenvolvimento do pas. Ele o Estado do Bem-Estar, res-
ponsvel pelo consumo social, o Estado Regulador, responsvel pelo equi-
lbrio macroeconmico do sistema, o Estado Produtor, responsvel pela taxa
de acumulao de capital e o prprio desenvolvimento econmico.
Ora, um Estado com essas funes estar sempre necessariamente sen-
do pressionado para aumentar suas despesas sociais, ou subsidiar determi-
nados setores considerados prioritrios, ou aumentar as facilidades de crdi-
to, ao mesmo tempo que pressionado a no aumentar suas receitas prove-
nientes de impostos com base em toda sorte de argumentos. O Estado obri-
gado a compensar os prejuzos globais da economia que entra em crise, au-
mentando suas despesas, ou a compensar os prejuzos setoriais, concedendo
142 Luiz Carlos Bresser Pereira
subsdios. O dficit oramentrio a conseqncia necessria disso tudo, e a
inflao monetria ganha carter de uma inflao compensatria.
O Estado transforma-se, assim, parcialmente, em um rgo substitutivo
do mercado, medida que passa a ser um agente de redistribuio (e geral-
mente de concentrao) da renda. Ele est sempre sendo chamado para re-
solver os desequilbrios, para resolver os problemas em todos os setores da
economia. E, ao procurar realizar essa tarefa, ele cria novas distores, no-
vos desequilbrios, que se resolvem em inflao.
A inflao torna-se, assim, um fenmeno intrnseco economia brasi-
leira. Uma forma atravs da qual os grupos e classes sociais disputam a divi-
so da renda, seja no caso da inflao inercial, por meio da qual se mantm
o patamar de inflao, seja no caso das inflaes monetria, keynesiana, estru-
tural e administrada, que explicam alternativa ou cumulativamente a acele-
rao da inflao, sua mudana de patamar; a inflao sempre o resultado
de uma luta distributiva. Quem tiver poder para subir mais e mais depressa
do que os outros seus preos ser o beneficiado, ganhar com a inflao. Os
que elevarem seus preos, seus juros e seus salrios e ordenados com atraso
sero os perdedores. A inflao, em ltima anlise, uma luta pela apropriao
do excedente econmico. No Brasil, em que o poder das diversas classes e
fraes de classe to dspar, a inflao tem sido basicamente um mecanismo
de concentrao de renda e mais especificamente uma forma de transferir
renda para os grupos capitalistas ao mesmo tempo mais dinmicos e com
maior poder sobre o Estado. Foi sempre uma forma de transferir renda dos
trabalhadores para os capitalistas. Em certos momentos, particularmente nos
anos 40 e 50, foi uma forma de transferir excedente dos exportadores agrcolas
para os industriais; nos anos 70, um dos setores mais beneficiados com a
inflao foi o produtor de bens de capital, que recebeu tratamento priorit-
rio e crditos subsidiados do Estado, mas muitos outros setores e empresas
foram tambm beneficiados com emprstimos oficias a taxas negativas de juro.
Como os desequilbrios estruturais e dinmicos da economia brasileira
no so solucionados pelos mecanismos automticos do mercado nem por
mtodos administrativos, via poltica econmica do Estado, eles encontram
sua aparente soluo ou sua vlvula de escape na inflao, a qual tende a se
acelerar quanto maiores forem os desequilbrios e quanto maior for a insa-
tisfao e o poder dos diversos grupos que compem a sociedade especial-
mente as grandes empresas monopolistas que possuem grande poder sobre o
mercado em relao sua participao no excedente econmico.2
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 143
NOTAS
1 Esta distino entre fatores aceleradores e mantenedores est presente no bsico so-
bre a teoria da inflao inercial de Bresser e Nakano (1983).
2 Sobre a inflao brasileira nos anos de 50 e 60, o texto clssico de Rangel (1963).
Sobre a inflao inercial a partir dos anos 70 e s debelada pelo Plano Real em 1994, ver
principalmente Arida (1983), Lara Resende (1984, 1985, 1988), Lara Resende e Arida (1984),
Bresser Pereira e Nakano (1983, 1984a, 1984b), Nakano (1989), Silva (1983), Bacha (1988),
Lopes (1984a, 1984b, 1986) e Modiano (1985, 1988), Holanda Barbosa (1987), Cardoso
(1988, 1991). O trabalho pioneiro sobre o assunto de Simonsen (1970). O melhor livro
recente sobre inflao brasileira, reunindo, entre outros, artigos de Bonomo, Cisne, Holanda
Barbosa, Nakano, Toledo e Werlang, foi organizado por Rosa Maria Oliveira Fontes (1993).
Ver tambm os trabalhos recentes de Simonsen (1995), Oliveira Lima (1996) e Pastore (1997).
144 Luiz Carlos Bresser Pereira
Quinta Parte
POLTICA ECONMICA
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 145
146 Luiz Carlos Bresser Pereira
Captulo 23
PLANEJAMENTO ECONMICO
Poltica econmica em uma economia capitalista o processo por meio
do qual o Estado intervm no mercado, corrigindo-o, orientando-o para de-
terminados objetivos. Se o mercado funcionasse da maneira absolutamente
perfeita com a qual os economistas ortodoxos sonham, no haveria lugar para
a poltica econmica. Como os economistas ortodoxos tendem a confundir
sonho com realidade e a imaginar que o mercado, apesar de tudo, acaba
funcionando adequadamente, h pouco lugar para a poltica econmica em
suas teorias. O mximo que a poltica econmica deveria fazer seria resta-
belecer as condies de concorrncia, como se isso fosse possvel, como se
fosse possvel por alguns atos legislativos e de poltica econmica acabar com
o capitalismo monopolista tecnoburocrtico de Estado e voltar ao Estado
idlico do capitalismo competitivo, que alis de idlico no tem nada. Basta
lembrar, caso haja alguma dvida, do imenso grau de explorao da fora
de trabalho e das profundas flutuaes cclicas que prevaleceram na Ingla-
terra do sculo XIX, quando o capitalismo competitivo era dominante.
De qualquer forma, depois do xito do planejamento econmico sovi-
tico e das propostas de poltica econmica conjunturais de Keynes, alcanando
ambos grande xito apesar de todas as suas limitaes, a necessidade de cada
Governo desenvolver atravs dos aparelhos do Estado uma poltica econ-
mica coerente tornou-se um fato definitivo.
H dois tipos de poltica econmica. H a poltica econmica estrutu-
ral ou de mdio prazo, que se divide em planejamento econmico e poltica
de rendas, e a poltica econmica de curto prazo ou conjuntural. A primeira
preocupa-se com o desenvolvimento econmico, a taxa de acumulao, os
desequilbrios regionais, a distribuio da renda. A segunda, com os fenmenos
mais imediatos de equilbrio macroeconmicos (e equilbrio entre a oferta e
a demanda agregadas) e o equilbrio financeiro (inflao, taxa de juros, equi-
lbrio externo). O planejamento econmico est naturalmente intimamente
relacionado com as polticas industriais, que alteram os preos relativos ao
privilegiar com subsdios ou com proteo determinados os setores industriais.
No Brasil, o planejamento econmico vem sendo praticado desde os anos
40, mas o primeiro plano econmico que realmente foi implementado com
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 147
xito foi o Plano de Metas do presidente Juscelino Kubitscheck. O Plano
Trienal, elaborado (por Celso Furtado) no Governo Joo Goulart, no teve
condies polticas para ser aplicado, dada a crise que o pas atravessava. O
PAEG, 1964-1966, elaborado por Roberto Campos aps o Golpe de 1964,
serviu de instrumento para uma poltica econmica relativamente ortodoxa
e para um grande arrocho salarial, mas serviu tambm de base para algumas
reformas econmicas importantes que os governos anteriores no tinham tido
condies polticas de implementar: a reforma bancria e a criao do Ban-
co Central, a reforma do mercado de capitais, a criao do FGTS e do BNH,
a criao do instituto da correo monetria. Estas reformas, nem todas pre-
vistas no plano, foram completadas no incio da gesto de Antnio Delfim
Neto no Ministrio da Fazenda (1967-1973) com a criao das minides-
valorizaes cambiais, com a implantao, ainda que sempre imperfeita e
criticada pelos empresrios, do controle administrativo dos preos das em-
presas oligopolsticas pelo Conselho Interministerial de Preos (CIP), com a
instituio dos fundos de poupana forada, PIS e PASEP. O primeiro Plano
Nacional de Desenvolvimento (PND), 1970-1974, elaborado pelo ministro
do Planejamento Reis Veloso, coincidiu com a expanso cclica, deu nfase
indstria de bens de consumo durveis que j vinha em expanso, liderada
pela indstria automobilstica, e foi considerado um sucesso apesar das enor-
mes distores distributivas que provocou na economia brasileira. O segun-
do PND, elaborado pelo mesmo ministro, mudou a nfase do desenvolvimento
para a indstria de bens de capital e foi considerado um fracasso porque
coincidiu com a retrao cclica. Era ambicioso demais e teve de ser abando-
nado. Foi incapaz de reconhecer que o Brasil (e o mundo) entravam naquele
momento em uma fase de declnio ou desacelerao cclica que tornavam
inviveis a maioria de suas metas. Mas, de qualquer forma, foi importante
para estimular de forma decisiva a implantao definitiva da indstria de bens
de capital no Brasil, com ajuda das grandes empresas estatais, como a Pe-
trobrs, as diversas siderrgicas e as diversas empresas hidreltricas, que fo-
ram levadas a dirigir suas grandes encomendas de equipamentos para esse
novo setor industrial em implantao.
O terceiro PND, elaborado em 1979, em plena crise, pelo agora minis-
tro do Planejamento Delfim Neto, paradoxalmente descrente do planejamento,
no um plano. uma mera declarao de intenes. Foi a ltima tentativa
de planejamento econmico no Brasil. A crise que se desencadeia a partir de
ento iria impedir qualquer tentativa de planejamento, que, ao mesmo tem-
po, perde viabilidade na medida em que o Estado brasileiro, imerso em crise
fiscal, perdeu capacidade para promover setores da economia.
148 Luiz Carlos Bresser Pereira
Para orientar os investimentos em determinadas direes, o Estado tem
dois instrumentos. Em primeiro lugar, ele pode direcionar para determinado
setor produtivo os investimentos de suas prprias empresas ou das empresas
que cria especialmente para isso. O Estado transforma-se em Estado Produ-
tor, cria empresas, preenche reas vazias, realiza investimentos que, por sua
dimenso e/ou por sua baixa rentabilidade esperada, no atraem capitais
privados. No Brasil, foi o caso da grande siderrgica de aos planos, do pe-
trleo, da energia eltrica, da minerao de ferro. Nessas e em muitas outras
reas em que o Estado teve de intervir, a participao das empresas privadas
foi sempre marginal.
Em segundo lugar, o Estado direciona a acumulao para determina-
dos setores tornando as suas perspectivas de lucro extraordinariamente atra-
tivas. De acordo com a teoria econmica ortodoxa, o capital seria extrema-
mente mvel, movimentando-se de um setor para outro da economia com a
maior rapidez, menor indicao de que naquele setor as taxas de lucro
poderiam ser mais elevadas. Dessa forma, atravs da rpida mobilidade dos
capitais em competio, ocorreria a equalizao das taxas de lucro postula-
da por todos os economistas quando pensam em um mercado competitivo.
O capital dinheiro de fato muito mvel. Est sempre em busca da melhor
taxa de juros. Mas o capital produtivo, aplicado em capital constante, ou seja,
em fbricas, equipamentos e mercadorias, e em capital varivel, ou seja, em
fora de trabalho, um capital dotado de muito pouca mobilidade. E o capi-
tal produtivo tem um peso muito maior do que o capital dinheiro em econo-
mias capitalistas, especialmente em economias capitalistas subdesenvolvidas
como a brasileira, em que o sistema financeiro no foi muito desenvolvido.
Em conseqncia, para movimentar o capital para os setores conside-
rados prioritrios pelo planejamento, o Estado levado a criar subsdios fis-
cais e creditcios enormes que elevem fortemente a taxa de lucro esperada
daquele setor em relao taxa mdia de lucro da economia. S com gran-
des diferenciais de taxa de lucro possvel lograr mobilidade do capital e,
portanto, redirecionamento dos investimentos privados.
Subsdios fiscais so dedues de impostos de toda ordem. Subsdios
creditcios so redues na taxa de juros, tornando-a fortemente negativa, ou
seja, muito inferior taxa de inflao. Quem recebe um emprstimo a taxas
negativas de juros recebe um prmio (um subsdio) com o dinheiro tomado
emprestado em vez de pagar um preo (o juro positivo). Os subsdios so
transferncias de renda. Se algum deixa de pagar um imposto, outro ter de
pagar mais para compensar. Se uma empresa recebe um emprstimo a uma
taxa de juros de 30% ao ano quando a taxa de inflao est em torno de
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 149
100%, a diferena entre as duas taxas mais o juro real de mercado (digamos
10% ao ano em termos reais) corresponde ao subsdio que dever ser pago
por algum.
Quem d os subsdios sempre o Estado. Quem paga os subsdios
sempre a populao como um todo, so sempre os setores considerados no
prioritrios.
Compreende-se, em funo dessa anlise, por que o planejamento dei-
xou de ser considerado pelos capitalistas situados nos setores privilegiados
pela poltica econmica do Governo como uma ameaa socialista. Mas
fcil tambm perceber que esse tipo de planejamento pode trazer enormes
distores para a economia. Concentra renda, tende a produzir o desequil-
brio oramentrio do Estado e provoca inflao.
Contribuiu para o descrdito do planejamento, alm da crise fiscal do
estado e o avano da ideologia neoliberal em todo o mundo, a verificao
de que o planejamento, como a inflao, transformara-se em um mecanis-
mo de transferncia de rendas dos trabalhadores para os capitalistas, dos
setores menos prioritrios para os mais prioritrios, sendo que a definio
do que seja um setor prioritrio nem sempre obedece a critrios econmi-
cos objetivos, mas a critrios polticos. Especialmente quando so conside-
rados casos particulares. Alm disso, para se beneficiar dos subsdios, a
empresa precisa ter uma certa dimenso, certa capacidade de negociao com
as entidades oficiais que os concedem. Isto explica por que, na agricultura,
os subsdios creditcios tendem a se limitar aos mdios e grandes propriet-
rios. E por que, na indstria, o grande beneficirio dos subsdios seja o ca-
pital monopolista.
150 Luiz Carlos Bresser Pereira
Captulo 24
POLTICA DE RENDAS
O segundo tipo de poltica econmica estrutural a poltica de rendas.
Atravs dessa poltica se procuraria, deliberadamente, influenciar em uma ou
em outra direo a distribuio de renda dentro de um pas.
claro que essa classificao de poltica econmica estrutural, subdivi-
dida em planejamento econmico, poltica de rendas e poltica econmica
conjuntural, arbitrria, imprecisa. Isto porque elas se interpenetram. J vi-
mos que o planejamento econmico, ao estabelecer um sistema de subsdios,
implica um processo de transferncia de renda. Veremos que, nas polticas
conjunturais de combate inflao ou de restabelecimento do equilbrio ex-
terno, as implicaes distributivas so enormes. Mas possvel imaginar uma
poltica especificamente de rendas.
No caso de uma poltica de rendas, o objetivo no ser primordialmen-
te a acumulao e o desenvolvimento (como no caso do planejamento) nem
o equilbrio financeiro (como no caso da poltica anti-inflacionria), mas a
prpria distribuio de renda.
J vimos que as tendncias naturais de uma economia capitalista so
extraordinariamente concentradoras de renda. Mesmo em um mercado com-
petitivo, no h razo nenhuma para se imaginar que a economia tenda a
desconcentrar a renda. A teoria econmica ortodoxa, que pretende manter
tudo em equilbrio atravs das foras do mercado, foi capaz de mostrar como
um mercado perfeitamente competitivo seria capaz de alocar recursos com
eficincia tima, mas jamais foi capaz de demonstrar que a economia tendesse
para uma distribuio de renda tima ou justa. A tese de que a remunera-
o dos fatores de produo, capital e trabalho, proporcional sua pro-
dutividade marginal uma brincadeira de mau gosto dos economistas neo-
clssicos para explicar o lucro. Na verdade, s existe um verdadeiro fator de
produo: o trabalho. Os meios de produo so simplesmente trabalho acu-
mulado ao qual se incorpora tecnologia. Capital uma relao de produo
especfica do modo capitalista de produo, definida pela propriedade pri-
vada dos meios de produo pela burguesia.
No sistema capitalista, admitida a tendncia equalizao das taxas de
lucro, os capitalistas participam da renda na proporo de seu capital, dada
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 151
a taxa mdia de lucro. Ora, no possvel demonstrar que a distribuio do
lucro de acordo com os capitais acumulados seja justa ou eficiente. Muito
menos possvel determinar qual o nvel ideal da taxa mdia de lucro. O
mercado, portanto, no tem nenhum mecanismo para garantir a distribui-
o ideal entre capitalistas e trabalhadores. Do ponto de vista socialista, alis,
no deveria haver capitalistas e, portanto, o lucro privado no faz sentido.
Por outro lado, a distribuio da renda entre os assalariados pela leis
do mercado tambm insustentvel. Por exemplo, impossvel explicar di-
ferenciais de salrios de 10 para 1 entre trabalhadores de pases desenvol-
vidos e subdesenvolvidos que realizam a mesma tarefa (produo de deter-
minado bem) com a mesma produtividade. tambm impossvel explicar
com essa teoria da produtividade marginal por que em alguns pases os di-
ferenciais internos de salrios so enormes, como o caso do Brasil, enquan-
to em outros pases esse diferencial muito menor. E no se fale que a pro-
dutividade pode ser a mesma em diferentes pases, mas a produtividade
marginal, ou seja, a produtividade do ltimo empregado, menor. Em pri-
meiro lugar porque, para que a produtividade mdia seja igual, necess-
rio que a marginal tambm o seja. Em segundo lugar, porque, se h desem-
prego disfarado rebaixando os salrios dos trabalhadores nos pases sub-
desenvolvidos, h desemprego aberto que deveria rebaixar (no fosse sua
capacidade de organizao sindical e poltica) os salrios dos trabalhadores
dos pases desenvolvidos.
Na verdade, ainda que os economistas neoclssicos tenham procurado
demonstrar o contrrio por bvios motivos ideolgicos, no existe no siste-
ma capitalista nenhum mecanismo automtico que impea a concentrao
de renda. Deixando o mercado livre e dando maior poder s empresas do que
aos trabalhadores no organizados sindical e politicamente, a tendncia se-
ria necessariamente para a concentrao de renda.
Nesse sentido, se tomarmos a teoria clssica, que pressupe os salrios
aproximadamente constantes no nvel de subsistncia e se supusermos (de
forma muito realista em termos histricos) uma produtividade crescente no
apenas do trabalho, mas tambm (ao contrrio do que Marx previu, postu-
lando a tendncia declinante da taxa de lucro) dos meios de produo, a taxa
de mais-valia (lucro sobre salrios) tenderia a crescer e a composio org-
nica do capital (capital constante sobre salrios) tenderia a ficar aproxima-
damente constante. Em conseqncia, a taxa de lucro tenderia a crescer, con-
centrando-se fortemente a renda. Afinal, a concentrao de renda s no
aconteceu nas economias capitalistas centrais porque os salrios no se man-
tiveram constantes. Graas presso dos sindicatos e dos partidos popula-
152 Luiz Carlos Bresser Pereira
res, os salrios cresceram aproximadamente mesma taxa do aumento da
produtividade do trabalho desde meados do sculo passado.
O mercado no tem, portanto, nenhum mecanismo que garanta uma
distribuio mais justa ou mais igualitria da renda. Pelo contrrio, tende a
concentrar a renda. A alternativa do mercado ento o poder poltico das
diversas classes, e principalmente o aumento de poder de barganha dos
trabalhadores.
Por meio dos sindicatos e dos partidos polticos, verifica-se um poder
crescente dos trabalhadores. Mas o processo reivindicativo extremamente
catico. Os sindicatos mais fortes conseguem resultados melhores. Os bair-
ros e as cidades que conseguem organizar-se melhor politicamente conseguem
maiores verbas do Estado.
Entretanto, medida que a reivindicao das classes populares assuma
um carter cada vez mais global e que sua influncia poltica sobre o apare-
lho do Estado aumente, seria possvel imaginar o Estado desenvolvendo de-
liberadamente, planejadamente, uma poltica de distribuio de renda.
Ainda que o Estado seja em princpio um instrumento da classe domi-
nante, suas polticas so cada vez mais o resultado da luta de classes e da
necessidade que a classe dominante tem de legitimar-se no poder atravs de
concesses classe dominada. Nestes termos, foi possvel aos partidos
social-democratas, quando assumiram o poder em diversos pases europeus,
realizar, at certo ponto, uma poltica de rendas que visava a distribuio da
renda de uma forma relativamente planejada.
Na economia brasileira, jamais ocorreu uma poltica redistributiva de
rendas bem sucedida. J vimos que o Estado tem sido fundamentalmente um
mecanismo de concentrao da renda, de apropriao da renda pela classe
dominante. Em alguns momentos, polticas populistas resultaram em redu-
zir um pouco a presso sobre os trabalhadores. Este fenmeno ocorreu in-
termitentemente no perodo ditatorial do Estado Novo e principalmente no
segundo Governo Vargas, entre 1950 e 1954. Na presidncia de Joo Goulart,
entre 1961 e 1963, o processo de concentrao de renda do modelo de sub-
desenvolvimento industrializado j estava em marcha e o Governo populista
nada logrou contra essa tendncia. Nos anos 70, o protesto social implcito
na derrota eleitoral sofrida pelo partido do Governo autoritrio do presidente
Geisel, em 1974, levou a uma clara mudana na poltica salarial. A partir de
1975, os salrios e particularmente o salrio mnimo deixam de perder po-
der aquisitivo. A melhor organizao sindical e o aumento das reivindicaes
salariais, a partir do incio do processo de abertura poltica, em 1977, leva o
Governo, em 1979, a aprovar uma lei salarial que se constitui em uma vit-
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 153
ria dos trabalhadores, a estabelecer reajustes semestrais, indexao dos sal-
rios pelo INPC (ndice Nacional de Preo do Consumidor), diminuio do
leque salarial, por meio de aumentos superiores ao INPC para os que rece-
bem at trs salrios mnimos e inferiores ao INPC para os que recebem or-
denados superiores a vinte salrios mnimos, e a garantia de aumentos reais
de salrios proporcionais ao aumento de produtividade. No obstane, logo
em seguida sobreveio a grande crise dos anos 80, e a concentrao de renda
voltou a ocorrer. A vitria das foras democrticas e populares em 1985,
terminando afinal quase vinte anos de regime militar, abriu novas esperan-
as de desconcentrao de renda, mas estas no se confirmaram, na medida
em que a crise da dvida externa transformada em profunda crise fiscal e em
altas taxas de inflao inviabilizava qualquer poltica de rendas de carter
progressista.
154 Luiz Carlos Bresser Pereira
Captulo 25
POLTICA DE RENDAS E LEI DO VALOR
Os quatro instrumentos bsicos de uma poltica de distribuio de ren-
da so a poltica tributria, a poltica de despesas do Estado, a poltica sala-
rial e o controle de preos. Estas polticas, entretanto, e especialmente as duas
ltimas, esto rigorosamente condicionadas e limitadas pela lei do valor, ou
seja, pela lei que regula as trocas em um sistema econmico.
A poltica tributria um instrumento bvio de uma poltica de rendas.
aceita como instrumento vlido de poltica econmica inclusive pela maioria
dos economistas ortodoxos, principalmente nos pases capitalistas, onde a
social-democracia alcanou o poder, a tributao progressiva transformou-
se em um instrumento efetivo de distribuio de renda. No Brasil, entretan-
to, a poltica tributria regressiva. Os pobres tendem a pagar proporcio-
nalmente mais impostos do que os ricos. Isto pode ser visto pelo Quadro XVII,
que estima qual a porcentagem de carga tributria (impostos totais) que pesa
sobre os diversos estratos de renda.
Quadro XVII: Carga Tributria (em 1975) e Distribuio
Renda Mensal Carga Tributria
At 1 Salrio Mnimo 33,5%
De 1 a 2 SM 29,3%
De 2 a 5 SM 30,9%
De 5 a 10 SM 31,3%
De 15 a 20 SM 33,9%
De 20 a 40 SM 33,1%
De 40 a 50 SM 29,6%
De 50 a 75 SM 25,8%
De 75 a 100 SM 21,0%
Mais de 100 SM 15,0%
Fonte: Eris (1979).
O carter regressivo da poltica tributria brasileira naturalmente fruto
da lgica da acumulao, que preside o modelo de subdesenvolvimento in-
dustrializado. Esse carter regressivo tecnicamente possvel apesar de o
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 155
imposto de renda ser um imposto progressivo, que pesa mais sobre os mais
ricos, por dois motivos, alm, naturalmente, da sonegao de impostos. Em
primeiro lugar, porque o Estado Planejador inventou uma srie de incenti-
vos, ou seja, de subsdios, de isenes ou redues de impostos para os in-
vestidores nos setores considerados prioritrios. Em segundo lugar, porque
a grande massa de impostos continua ainda a ser constituda de impostos
indiretos, que oneram proporcionalmente mais os pobres do que os ricos. Os
dois impostos aproximadamente sobre valor adicionado, ICM e IPI, o pri-
meiro com uma porcentagem fixa e o segundo com uma porcentagem vari-
vel em funo da essencialidade do bem (o que o torna um pouco menos re-
gressivo), so ambos impostos que oneram mais as famlias pobres, que con-
somem mais em relao sua renda, do que as ricas.
As despesas do Governo so um poderoso instrumento de concentra-
o e distribuio de renda, medida que beneficiam mais os capitalistas e
os altos e mdios tecnoburocratas ou mais os trabalhadores. Quem chamou
especial ateno para esse fato foi James OConnor (USA: a crise do Estado
capitalista). Em vez da classificao de OConnor, entretanto, preferimos dis-
tinguir cinco tipos de despesa do Estado: (1) despesas de administrao e
segurana, (2) despesas de acumulao estatal, (3) despesas de subsdio
acumulao privada, (4) despesas de consumo social de luxo para capitalis-
tas e tecnoburocratas, e (5) despesas de consumo social bsico para os tra-
balhadores. Apenas o ltimo tipo de despesa desconcentrador de renda. Os
subsdios ou incentivos tributrios e creditcios acumulao capitalista e o
consumo social de luxo (em melhoramentos para bairros ricos, em estradas
de rodagem e pontes para circularem automveis etc.) so profundamente
concentradores de renda. As despesas de administrao e segurana interes-
sam especialmente s classes dominantes, medida que visam principalmen-
te, via represso, garantir a ordem estabelecida. Poderiam, entretanto, ter um
carter distribuidor se a segurana e a justia fossem entendidas no como
um mero instrumento da ordem, mas como uma garantia da reforma social.
A poltica salarial e a poltica de controle de preos no so aceitas pe-
los economistas neoclssicos como instrumentos vlidos de poltica econ-
mica. Para eles, os salrios como os preos so ou devem ser determinados
pela oferta e procura. Elevar artificialmente os salrios causaria desemprego
ou inflao; baixar os preos provocaria cmbio negro.
Na verdade, a lei da oferta e da procura tem limites estreitos de opera-
o dentro de um sistema capitalista tanto na determinao dos preos das
mercadorias quanto na determinao dos salrios. Os salrios, entretanto,
dependem fortemente do poder de barganha dos trabalhadores. claro, por-
156 Luiz Carlos Bresser Pereira
tanto, que uma poltica salarial que procure elevar (ou reduzir) os salrios ser
altamente efetiva. Por outro lado, nos mercados oligopolistas do capitalismo
monopolista, os preos so administrados pelas empresas. claro, portanto,
que o controle de preos pode ter um papel decisivo em reduzir lucros mono-
polistas, embora possa tambm favorec-los quando o rgo controlador de
preos se transforma em um instrumento oficializador dos aumentos de pre-
os e de margens, como j aconteceu varias ocasies na economia brasileira.
preciso, entretanto, tomar extremo cuidado com a interveno do
Estado no controle dos preos, juros, taxa de cmbio e salrio (os quatro
preos da economia), porque se a lei da oferta e da procura tem um papel
secundrio, a lei do valor, ou seja, a lei que regula as trocas e tende a equalizar
as taxas de lucro dentro do sistema capitalista, tem uma extrema importncia.
Os preos correspondem a valores, definidos estruturalmente em funo
da quantidade de trabalho incorporada em cada bem. Estes preos no so,
portanto, arbitrrios, mas preos necessrios. Se fixarmos a taxa de salrios ao
nvel de subsistncia, como faziam os economistas clssicos, todos os demais
preos se tornam necessrios, ou seja, passa a existir um nico sistema de preos
que determina a taxa geral de lucro e equilibra a economia. A economia aproxi-
ma-se do equilbrio quando as taxas de lucro se equalizam. Por outro lado, dados
os salrios, o nvel da taxa geral de lucro depender da produtividade do tra-
balho e do grau de progresso tcnico poupador de capital que est incorpora-
do nos meios de produo. Quanto maior for a produtividade do trabalho e mais
poupador de capital for o progresso tcnico, maior ser a taxa de lucro.
Da mesma forma, se a taxa de lucro mdia de longo prazo (ignorados os
ciclos) fixar-se em torno de determinado nvel, como tende a acontecer no capi-
talismo monopolista de Estado desenvolvido, haver tambm um nico sistema
de preos que equilibra a economia e equaliza a taxa de lucros; a taxa de sal-
rios, por sua vez, depender do nvel de produtividade ou de progresso tcnico.
Nestes termos, a poltica salarial ser importante medida que fixa a taxa
geral de lucros da economia em um nvel considerado aceitvel pelos capitalistas.
Esse aceitvel naturalmente muito subjetivo, alm de historicamente vari-
vel, mas importante porque os capitalistas tendero a reduzir seus investimen-
tos e a exportar capital para outros pases (legal ou ilegalmente) sempre que
sua taxa de lucro prevista estiver abaixo da taxa mnima aceitvel. Por outro
lado, sempre que a poltica salarial implicar um aumento real da taxa de sal-
rios superior ao aumento da produtividade, e, portanto, rebaixar a taxa de lucros,
os capitalistas tendero a responder com aumentos inflacionrios de preos.
Em relao aos controles de preos, juros e taxa de cmbio, se, em fun-
o da lei do valor, existe um sistema nico de equilbrio, dados a taxa de
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 157
lucro, a taxa de salrio e o nvel de produtividade, claro que os limites des-
ses controles so muito estreitos. O objetivo fundamental da poltica econ-
mica em relao aos controles de preos ser impedir os lucros monopolistas.
Ser garantir uma relativa equalizao das taxas de lucro no nvel conside-
rado aceitvel. O controle da taxa de juros poder ser feito para evitar taxas
de agiotagem e manter uma relao adequada entre a taxa de lucro e a de
juros. A taxa de cmbio tambm pode ser administrada dentro de limites es-
treitos. Sair desses limites , em geral, ineficiente e acabar resultando nas mais
diversas formas de cmbio negro, alm de provocar distores na economia
que acabam sendo cobertas ou compensadas com subsdios estatais e desem-
bocam afinal na inflao compensatria. Foi o que aconteceu no Brasil a partir
de 1975, com a desacelerao econmica que ento se inicia, a qual foi acom-
panhada pela montagem de um monumental sistema de subsdios.
Este fenmeno acentuou-se em 1980, com a desastrosa poltica de pre-
fixao da correo da taxa de cmbio e da correo monetria. A prefixao
da correo cambial implicou revalorizar o cruzeiro que acabara de ser des-
valorizado em dezembro de 1979. Da prefixao da correo monetria dos
dbitos resultaram taxas fortemente negativas de juros para rentistas, j que
a inflao superou o previsto pela prefixao. Em conseqncia, ressurgiu um
mercado paralelo de ttulos (cmbio negro) praticado inclusive pelos bancos.
O curioso que essas distores na poltica econmica foram realiza-
das sob a gide de economistas neoclssicos, o que talvez indique que as pres-
ses da acumulao so mais fortes que as teorias dos economistas. Mas
mostra tambm que os limites impostos pela lei do valor aos formuladores
de poltica econmica, sejam eles seguidores desta ou daquela escola de pen-
samento econmico, so muito estreitos. Neste campo, infelizmente, no so
suficientes intenes generosas. Basta lembrar os efeitos desastrosos, respec-
tivamente, sobre a economia chilena e portuguesa que tiveram os violentos
aumentos de salrios praticados em seguida subida de Allende ao poder,
no Chile, e revoluo de 25 de abril de 1974, em Portugal. Alm de provo-
car fortes presses inflacionrias, essas duas polticas radicais de rendas re-
duziram de tal forma a taxa de lucro que apressaram a fuga de capitais e
estabeleceram bases para a contra-revoluo burguesa.1
NOTA
1Estas foram esperincias de populismo econmico, que pode ser praticado tanto por
governos de esquerda quanto de direita, quando estes decidem ignorar as limitaes econ-
micas e gastar mais do que o Estado pode financiar com segurana.
158 Luiz Carlos Bresser Pereira
Captulo 26
POLTICA ECONMICA ORTODOXA
A poltica econmica conjuntural ou de curto prazo aquela que visa,
fundamentalmente, estabelecer trs equilbrios interdependentes: (1) o equi-
lbrio macroeconmico entre a oferta e a procura agregadas, (2) a estabili-
dade de preos, e (3) o equilbrio das contas externas.
J vimos que, a rigor, os economistas neoclssicos no vem nem po-
dem ver necessidade de poltica econmica medida que acreditam, apesar
de todos os desmentidos da Histria, que o mercado capitalista capaz de
manter o equilbrio da economia automaticamente.
Entretanto, possvel definir uma poltica econmica ortodoxa ou neo-
clssica por trs motivos. Em primeiro lugar, Keynes foi to bem-sucedido
em demonstrar que uma poltica econmica de gastos pblicos e de impos-
tos (poltica fiscal) e uma poltica de controle monetrio podia ser to efeti-
va que os economistas neoclssicos no tiveram outra alternativa seno re-
conhecer a efetividade da interveno governamental.
Em segundo lugar, porque entre as polticas econmicas sugeridas por
Keynes encontra-se a reduo dos impostos (quando a economia est em crise)
e a reduo da despesa do Estado e da quantidade de moeda (quando o ex-
cesso de procura agregada provoca inflao). Ora, esses trs tipos de polti-
ca so muito atrativos aos economistas neoclssicos, seja porque so tambm
monetaristas, acreditando que o controle da moeda resolve todos os proble-
mas, seja porque sua posio ideolgica capitalista ou economicamente con-
denadora os leva a apoiar qualquer medida que reduz a participao do Es-
tado na economia, como a reduo de impostos ou de despesas do Estado.
Evidentemente, no vem com bons olhos a proposta bsica de Keynes de
aumentar as despesas do Estado nos momentos de crise.
Mas os economistas ortodoxos tm uma ltima e fundamental razo para
admitir e adotar uma poltica econmica. Sua tese central a de que o mer-
cado funcionaria automaticamente para equilibrar a economia se no fosse
neutralizado por distores geralmente produzidas pelos controles artificiais
e pelas polticas econmicas erradas ou demaggicas dos governos. Nesses
termos, sua poltica econmica visa sempre (ou quase sempre, como veremos)
liberalizar a economia, devolver a verdade ao mercado.
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 159
Geralmente, o desequilbrio mais comum em economias subdesenvol-
vidas como a brasileira a inflao e o desequilbrio externo. Diante desses
dois desequilbrios, a poltica econmica ortodoxa, geralmente consubstan-
ciada nas recomendaes do Fundo Monetrio Internacional, a seguinte:
(1) reduzir as despesas do Estado e equilibrar o oramento pblico; (2) redu-
zir e controlar a quantidade de moeda em circulao; (3) liberalizar os pre-
os de quaisquer tabelamentos; (4) liberalizar a taxa de juros, que, dada a
reduo da oferta de moeda, dever aumentar; (5) liberalizar ou tornar rea-
lista (geralmente desvalorizando) a taxa de cmbio; (6) eliminar todos os sub-
sdios; (7) reduzir os salrios dos trabalhadores.
Como se v, todas as medidas so liberalizantes, exceto a ltima. O
arrocho salarial, adotado em nome do combate inflao, uma constante
nas propostas e prticas ortodoxas de poltica econmica.
O diagnstico implcito nessa poltica econmica simples. A inflao
e o desequilbrio externo decorrem das distores do mercado e do excesso
de procura agregada. Nestes termos, alm de corrigir as distores, eliminando
todo e qualquer controle de preos, procura-se reduzir a procura agregada e
provocar uma recesso na economia.
A reduo das despesas do Estado, a reduo da quantidade de moeda
e a elevao da taxa de juros (que tecnicamente levaria reduo dos inves-
timentos) tero como conseqncia reduzir a procura agregada e provocar a
recesso, ou seja, desemprego e falncia. Em conseqncia, a taxa de infla-
o cairia, j que a inflao considerada, por definio, como sendo causa-
da por excesso de procura.
Por outro lado, a reduo da procura interna teria dois efeitos equi-
libradores sobre as contas externas. De um lado, a queda do consumo e do
investimento faria com que sobrassem mais mercadorias para serem expor-
tadas. De outro lado, essa mesma queda implicaria uma menor procura de
bens importados. Aumentadas as exportaes e reduzidas as importaes, a
balana comercial se tornaria superavitria e o balano de pagamentos se
equilibraria.
No Brasil, tentou-se aplicar a poltica econmica ortodoxa em diversas
ocasies. Seus efeitos mais danosos sobre a economia brasileira ocorreram
nas seguintes ocasies: (1) em 1961, no Governo Jnio Quadros, quando uma
violenta desvalorizao cambial desequilibrou todas as finanas do Estado
j comprometidas com as grandes obras pblicas do Governo Kubitscheck;
(2) entre 1964 e 1966, quando se provocou recesso e principalmente um
violento arrocho salarial; (3) entre 1974 e 1979, quando se tentou, felizmen-
te sem sucesso, provocar uma recesso; e (4) a partir do final de 1980, quan-
160 Luiz Carlos Bresser Pereira
do novamente se iniciava uma poltica econmica ortodoxa de liberao de
preos, de elevao da taxa de juros e de rgido controle monetrio, provo-
cando, em 1981, a mais grave recesso da histria do pas.
O certo, entretanto, que jamais os economistas ortodoxos lograram
aplicar plenamente uma poltica econmica ortodoxa a no ser no Governo
Pinochet, no Chile. Provavelmente, porque uma poltica econmica ortodo-
xa em pases subdesenvolvidos requer no apenas um regime ditatorial (o que
no deixa de ser uma curiosa contradio), mas tambm um total domnio
do capital mercantil, exportador e bancrio. No Brasil, tivemos a ditadura
entre 1964 e 1979, mas o capital mercantil exportador j estava decadente e
o capital bancrio no logrou sobrepor-se ao capital industrial.
Em pases desenvolvidos, a poltica econmica ortodoxa pode tambm
contar com o apoio do capital industrial quando a inflao claramente de
procura, no auge do ciclo econmico. Nesse momento, a proximidade do
pleno emprego, ou, em outras palavras, o esgotamento do exrcito industrial
de reserva, implica uma procura de trabalhadores maior do que a oferta, e,
portanto, a elevao dos salrios e a reduo dos lucros. Para evitar no apenas
a inflao de procura, mas tambm esse estrangulamento dos lucros, o capi-
tal industrial apia a poltica econmica ortodoxa. O capital bancrio e os
rentistas, que vivem de juros, esto sempre a favor da poltica econmica
ortodoxa, que s os favorece. O apoio do capital industrial ocorre quando a
escolha est entre ter seus lucros reduzidos pelos maiores salrios ou ter seus
lucros reduzidos pela recesso juntamente com os salrios. Em ambos os casos,
cai a taxa de lucros, mas no primeiro caso devido a um aumento de salrios
que depois ser difcil reduzir. Entre os dois males, o capital industrial esco-
lhe o menor: opta pela recesso.
Em uma economia como a brasileira, em que existe, alm do desempre-
go aberto, um amplo contingente de subempregados ou desempregados dis-
farados, mesmo no auge do ciclo, as presses por aumentos salariais so
muito reduzidas. Por isso, o capital industrial sempre contrrio poltica
econmica ortodoxa. E tambm por isso que, em economias como a brasi-
leira, em que o capital industrial suplantou claramente o capital mercantil e
no foi submetido ao capital bancrio na forma de capital financeiro (capital
financeiro o processo de fuso do capital bancrio com o industrial, sob
o comando do primeiro, que ocorreu na Alemanha e no Japo), as tentativas
de aplicao de poltica econmica ortodoxa no se efetivam completamente.
A partir dos anos 70, as polticas ortodoxas ganharam espao nos pases
desenvolvidos, na medida em que as polticas econmicas keynesianas deixa-
vam de funcionar e o consenso keynesiano dos anos 50 e 60 entrava em co-
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 161
lapso. Isto ocorreu porque a poltica keynesiana pressupunha no uma crise
de Estado, mas crise de mercado. O que havia era insuficincia de demanda,
no crise fiscal. Quando esta se torna dominante, especialmente em funo de
polticas populistas, no h outra alternativa seno voltar ortodoxia, ao arroz
com feijo do ajuste fiscal e da poltica monetria rgida.
Na verdade, as polticas econmicas ortodoxas ou heterodoxas, com-
petentes ou populistas. Em alguns momentos, como aconteceu entre os anos
30 e os 60 com as polticas keynesianas para resolver o problema de insuficin-
cia crnica de demanda em um ambiente de equilbrio fiscal, ou como ocor-
reu no Brasil nos anos 80 e 90 com a inflao inercial, a soluo mais com-
petente heterodoxa. Outras vezes, preciso ser simplesmente ortodoxo. Em
nenhum caso se justificam as polticas populistas.1
No Brasil, em 1981, uma poltica econmica ortodoxa levada at o fim
logrou, s custas de enorme desemprego e reduo absoluta da produo
industrial, reduzir a taxa de inflao e obter um saldo na balana comercial.
A taxa de inflao caiu porque, conforme demonstrou Yoshiaki Nakano
(1982), os setores competitivos da economia, inclusive naturalmente a agri-
cultura, baixaram suas margens mais fortemente do que os setores oligo-
polistas aumentaram as suas. Dessa forma, alm do custo em termos de de-
semprego e queda na produo, tivemos um favorecimento dos setores mo-
nopolistas. Conforme veremos na ltima parte deste livro, durante os anos
80 e no incio dos anos 90, as tentativas ortodoxas de controlar a inflao
fracassaram fragosamente. Duas delas (1983 e 1992) tiveram o apoio do FMI,
mas como, ortodoxamente, ignoravam o carter inercial da inflao, apenas
provocaram recesso. O controle da alta inflao brasileira s foi bem suce-
dido quando foi adotada uma poltica heterodoxa de neutralizao da inr-
cia, com o Plano Real (1994).
NOTA
1 Sobre o populismo econmico, ver principalmente os notveis trabalhos de Adolfo
Canitrot (1975) e Jeffrey Sachs (1988) no livro por mim organizado, Populismo econmico
(Bresser Pereira, org., 1991). No Brasil, tivemos vrios episdios populistas, destacando-se
aquele comandado por Delfim Netto (1979-1980) e o dos dois primeiros anos da Nova Re-
pblica (1985-1986), que culminou com o colapso do Plano Cruzado.
162 Luiz Carlos Bresser Pereira
Sexta Parte
CRISE E REFORMA
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 163
164 Luiz Carlos Bresser Pereira
Captulo 27
A GRANDE CRISE
Aps um longo perodo de crescimento, a economia brasileira, durante
os anos 80, entrou em um profundo perodo de crise, caracterizado pela es-
tagnao econmica e por altas taxas de inflao. A renda per capita, em 1994,
estava no mesmo nvel da existente em 1980, enquanto a inflao alcanou
nveis elevadssimos nesses quinze anos. Na verdade, esta foi a pior crise por
que passou a economia brasileira desde que o pas se tornou independente
no incio do sculo XIX, tendo sido muito mais grave que, por exemplo, a
crise dos anos 30.
Esta crise ocorreu por etapas. Em um primeiro momento entre 1981
e 1983 , a diminuio no ritmo de crescimento foi atribuda ao esforo de
ajustamento imposto pela crise da dvida. Numa segunda etapa 1984 a
1986 , a balana comercial foi reequilibrada graas desvalorizao cam-
bial, as taxas de crescimento voltaram, embora baseadas no aumento do
consumo, a crise pareceu a muitos ter sido superada. A partir de 1987, po-
rm, com o fracasso do Plano Cruzado e a moratria da dvida externa, a
crise voltou a se manifestar. Esse ano e o de 1988 foram anos de ajuste mo-
derado. Em 1989, voltou-se a um crescimento tipicamente populista, que ter-
mina, no incio de 1990, com um episdio de hiperinflao. Os trs primei-
ros anos da nova dcada sero anos de profundo ajuste fiscal e de reformas
estruturais. A partir de 1994, com a estabilizao afinal alcanada atravs
do Plano Real, a economia volta a crescer ao que tudo indica de forma sus-
tentada, terminando afinal a grande crise. O Quadro XVIII apresenta os prin-
cipais dados reais da economia brasileira no perodo.
A inflao j vinha se acelerando desde meados da dcada anterior, mas
essa tendncia realmente se acentuou a partir do incio dos anos 80. No pe-
rodo da grande crise, a inflao, de carter essencialmente inercial, aumen-
tou por patamares, ameaando, em determinados momentos, tornar-se ex-
plosiva. Na primeira metade dessa dcada, as maxidesvalorizaes ocorridas
entre 1982 e 1983 foram os principais fatores responsveis pela elevao do
patamar inflacionrio de mais ou menos 100% ao ano para 200% ao ano.
Depois do fracasso do Plano Cruzado, em 1986, a inflao passa a ser medi-
da em termos mensais e no anuais. Na segunda metade da dcada, girou em
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 165
torno de 20% ao ms (640% ao ano), interrompida por sucessivos e malo-
grados planos de estabilizao. No final da dcada, entra em uma rota ex-
plosiva culminando em um processo hiperinflacionrio ao final de 1989 e
comeo de 1990, quando a inflao chegou a ultrapassar a marca de 70%
ao ms. Depois do fracasso do Plano Collor, em 1990, a inflao volta ao
patamar de 20% ao ano at meados de 1993, quando volta a crescer. Nas
vsperas do Plano Real, a taxa de inflao mensal estava prxima dos 50%.
O Quadro XIX apresenta a dramtica evoluo anual da inflao brasileira
entre 1970 e 1990.
Quadro XVIII: Variveis Macroeconmicas Internas (%)
Anos PIB Invest./ Invest./ Inflao
PIB (preos PIB (preos (INPC)
correntes) constantes)
1979 7,2 22,0 22,9 70,7
1980 9,1 22,3 22,9 99,7
1981 (3,1) 23,1 21,0 93,5
1982 1,1 21,1 19,5 100,3
1983 (2,8) 16,7 16,9 178,0
1984 5,7 15,7 16,2 209,1
1985 8,4 19,2 16,7 239,0
1986 8,0 19,1 19,0 58,6
1987 2,9 22,3 18,3 396,0
1988 (1,0) 22,8 17,0 994,3
1989 3,3 24,9 16,7 1.863,6
1990 (4,0) 21,7 16,0 1.585,2
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica.
Tanto a estagnao quanto a inflao foram os sintomas dramticos de uma
profunda crise que atingiu a economia brasileira. A causa fundamental des-
sa crise no se deveu ao mal funcionamento do mercado, como ocorreu nos
anos 30, mas crise do Estado: crise fiscal do Estado, crise do modo de in-
terveno do Estado (o modelo de substituio de importaes) e crise da
forma burocrtica de administrar o Estado. Este deixou de ter as condies
necessrias para, de um lado, garantir o poder de compra da moeda doms-
tica e, de outro, ser o promotor de poupana forada. Dessa forma, no s
perdeu a capacidade de continuar a exercer o papel de principal agente indutor
do crescimento da economia brasileira, como se transformou em um obst-
culo ao desenvolvimento.
166 Luiz Carlos Bresser Pereira
Quadro XIX: Taxa de Inflao Anual
Anos % Anos %
1970 19,3 1980 110,2
1971 19,5 1981 95,1
1972 15,8 1982 99,7
1973 15,5 1983 211,0
1974 34,6 1984 223,8
1975 29,4 1985 235,1
1976 46,2 1986 65,0
1977 38,8 1987 415,8
1978 40,8 1988 1.037,6
1979 77,2 1989 1.782,9
1990 1.477,0
Fonte: Conjuntura Econmica, vrios nmeros. ndice Geral de Preos - IGP/FGV.
O desequilbrio financeiro do setor pblico teve origem nas polticas de
promoo do crescimento adotadas nos anos 70. O II PND Plano Nacio-
nal de Desenvolvimento foi uma tentativa de concretizar uma ltima fase
do processo de substituio de importaes que vinha se desenvolvendo des-
de os anos 50, suprindo o pas de condies suficientes para tornar-se aut-
nomo em relao importao de insumos bsicos e de mquinas e equipa-
mentos. Para tanto, buscaram-se recursos externos, poca abundantes e
baratos. A conjugao desses dois fatores uma poltica econmica ex-
pansionista visando dotar o pas de ampla capacidade produtiva no setor de
bens de capital e a elevada liquidez dos mercados financeiros internacionais
explica o acmulo inicial da dvida externa.1
Essa estratgia desenvolvimentista poderia ser justificvel at 1978. Mas
se tornou inconsistente a partir de ento, no apenas porque a dvida j era
muito alta, mas tambm porque quatro choques externos foraram o Brasil
a ajustar de forma imediata a sua economia: (1) o segundo choque do petr-
leo, que elevou o valor das importaes; (2) a recesso nos Estado Unidos,
que provocou uma reduo das exportaes brasileiras; (3) o aumento das
taxas de juros nominais graas inflao nos Estados Unidos; e (4) o aumento
das taxas de juros reais graas poltica monetarista de ajuste adotada pelos
Estados Unidos. Os ltimos dois choques aumentaram o montante de juros
que o Brasil necessitava pagar a seus credores.
A crise da economia brasileira eclode de fato em 1979, quando o Bra-
sil, como todos os pases altamente endividados, deveria ter-se empenhado
num forte processo de ajustamento. O segundo choque do petrleo, o cho-
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 167
que da taxa de juros e a recesso americana eram indicaes claras de que
esse era o caminho a seguir. A Coria foi um dos poucos pases altamente
endividados que se decidiu pelo ajuste naquele momento. O Brasil, como todos
os outros pases latino-americanos, no o fez. Pelo contrrio, engajou-se em
um irresponsvel programa de retomada do crescimento. Quando, em 1981,
deu incio ao ajustamento, depois de dois anos de crescimento acelerado, j
era muito tarde. A dvida externa quase dobrara em dois anos, tornando-se
alta demais para ser paga.
Ao contrrio do que aconteceu nos anos 30, quando a crise econmica
teve origem no mal funcionamento do mercado, causa fundamental da grande
crise dos anos 80 foi uma crise do Estado. Esta crise, que ocorreu com maior
intensidade em toda a Amrica Latina e no Leste Europeu, foi na verdade uma
crise de carter universal. Nos pases desenvolvidos, manifestou-se pela re-
duo para a metade das taxas de crescimento ocorridas nas duas dcadas
aps a Segunda Guerra Mundial; na Amrica Latina e no Leste Europeu, pela
estagnao econmica e pelas altas taxas de inflao. Apenas no Leste e no
Sudeste Asitico no ocorreu a crise econmica, essencialmente porque no
houve uma crise do Estado.
No Brasil, ela assumiu duas caractersticas bsicas: uma crise fiscal do
Estado e uma crise do modo de interveno do Estado o modelo de in-
dustrializao substitutivo de importaes. Nos dois prximos captulos,
examinaremos essas duas crises.
A crise do modelo de substituio de importaes est na base da crise
do Estado brasileiro. A industrializao brasileira, desde os anos 30, ocor-
reu atravs de uma poltica deliberada de proteo por parte do Estado con-
tra a concorrncia estrangeira, ao mesmo tempo em que o Estado, dada sua
capacidade de realizar poupana forada, investia nos setores estratgicos da
economia, como os de energia eltrica, petrleo, ao e comunicaes, para
os quais havia escassez de capitais privados.
Este modelo de desenvolvimento protecionista e estatizante foi muito
bem sucedido nos anos 30, 40 e 50. Entrou em uma primeira crise nos anos
60. Foi artificialmente retomado pelo regime militar nos anos 70, financia-
do atravs do endividamento externo, e entrou em colapso definitivo nos
anos 80.
O esgotamento do modelo estatista decorre do carter cclico da inter-
veno do Estado na economia; o esgotamento do modelo de substituio de
importaes, do carter intrinsecamente transitrio desse tipo de estratgia
de industrializao.
168 Luiz Carlos Bresser Pereira
NOTA
1 Trabalhos pioneiros sobre a crise financeira e fiscal do Estado foram escritas por
Rogrio F. Werneck nos anos 80 e depois reunidas em livro (1987). O primeiro trabalho
de 1983. Eu venho analisando a crise fiscal desde 1987 (Bresser Pereira, 1987, 1990). No
primeiro, analiso a crise do Estado a partir da mudana no padro de financiamento dos
investimentos. No segundo, formulo a interpretao da crise fiscal do estado como uma alter-
nativa, de um lado, teoria da dependncia, que a Grande Crise dos anos 80 tornara superada,
e, de outro, ao consenso de Washington, atravs do qual se expressou a interpretao
neoliberal. Completei essa anlise em Bresser Pereira (1993 e 1996a). Ver tambm os traba-
lhos importantes de Fbio Giambiagi (1991, 1997), Mnica Baer (1993), Ldia Goldenstein
(1994) e Otaviano Canuto (1994).
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 169
170 Luiz Carlos Bresser Pereira
Captulo 28
A CRISE FISCAL DO ESTADO
A crise fiscal do Estado apresentou trs dimenses: (1) uma dimenso
de fluxo (dficit pblico elevado e a baixa poupana pblica); (2) uma dimen-
so de estoque (alta dvida pblica interna e externa); e (3) uma dimenso
psicossocial: a falta de crdito do Estado, definida, em termos objetivos, por
sua inabilidade em financiar a sua dvida interna a no ser atravs de ttulos
de curtssimo prazo.1
A dimenso de fluxo da crise fiscal o mais freqente objeto de anlise.
Essa dimenso pode ser medida de duas formas, como mostrado no Qua-
dro XX: pelo dficit pblico operacional e pela capacidade de poupana do
setor pblico. A primeira inclui as empresas estatais e corresponde ao aumento
dos emprstimos concedidos ao setor pblico ou da sua necessidade de finan-
ciamento como um todo. O dficit pblico brasileiro era muito elevado no
comeo dos anos 80. A partir de 1983, ele foi reduzido por meio de drsti-
cos cortes no investimento pblico e nos gastos sociais. Entretanto, com a
adoo de polticas econmicas populistas durante o Governo Sarney, ele au-
mentou novamente. A partir de 1990, porm, um forte ajuste fiscal coloca
finalmente o dficit pblico sob controle.
H tambm um segundo desequilbrio de fluxo relacionado incapaci-
dade financeira do Estado de realizar poupana. A poupana pblica um
conceito pouco usado pela macroeconomia convencional, embora seja fun-
damental. Entende-se por poupana pblica a diferena entre a receita cor-
rente do Estado e a sua despesa de consumo. por meio da poupana pbli-
ca que o Estado financia regularmente seus investimentos. Quando a pou-
pana pblica insuficiente, o Estado se endivida para investir. O aumento
da dvida pblica corresponde ao dficit pblico.
A poupana pblica no pode ser diretamente comparada com o dficit
pblico porque as contas nacionais brasileiras no incluem as empresas estatais
no setor pblico. Apesar disso, essas duas medidas esto relacionadas. A pou-
pana pblica estava por volta de 5% do PIB em meados dos anos 70, reduziu-
se para 3,8% em 1979, e da para 1,2% em 1987. Isso significa que, nos anos
70, o setor pblico foi capaz de captar poupana forada e de investi-la. Durante
a grande crise, porm, embora o Estado tenha sido forado a investir porque
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 171
ele ainda era responsvel por uma boa parte da infra-estrutura produtiva do
pas, este no poupou. A nica forma de financiar o investimento pblico foi
recorrer a emprstimos do setor pblico, isto , recorrer ao dficit pblico.
Quadro XX: Contas do Setor Pblico (% do PIB)
Ano Carga Gastos Juros Juros Poupana Dficit
Tribut. c/ Pessoal Dv. Int. Dv. Ext. Pblica Pblico
1979 24,3 6,98 0,55 0,29 4,21 8,3
1980 24,2 6,24 0,74 0,36 2,70 6,7
1981 24,6 6,60 1,08 0,29 3,13 6,0
1982 26,2 7,32 1,21 1,18 2,01 7,3
1983 24,7 7,09 1,65 1,57 1,45 4,4
1984 21,6 6,28 2,05 1,83 0,54 2,7
1985 22,0 7,34 2,24 1,51 0,00 4,3
1986 24,3 7,63 1,14 1,35 2,80 3,6
1987 22,6 8,07 1,15 1,44 (0,39) 5,5
1988 21,9 8,45 1,58 1,72 (2,59) 4,8
1989 21,9 10,51 1,44 2,03 (5,72) 6,5
1990 27,4 11,34 1,09 2,12 0,79 (1,3)
1991 23,8 9,21 1,10 1,90 (1,15) 0,0
1992 24,8 9,89 2,10 1,40 (4,95) 1,6
1993 24,5 9,60 1,60 1,40 (3,32) 0,5
1994 28,6 8,91 3,30 0,60 (0,76) (1,0)
Fonte: Boletim do Banco Central do Brasil, vrios nmeros.
Nota: as primeiras cinco colunas referem-se ao setor pblico estrito senso, a ltima inclui as empresas
estatais.
Esses dois desequilbrios de fluxo agravaram o desequilbrio crescente da
varivel de estoque: a dvida pblica. Nos anos 70, a dvida pblica era, em sua
maior parte, externa. Desde 1979, contudo, quando os bancos internacionais
comearam a restringir a rolagem da dvida externa, e, especialmente, desde 1982,
quando eles definitivamente a suspenderam, a dvida interna comeou a crescer
de forma explosiva. A prpria dvida externa pblica, entretanto, continuou a
crescer, na medida em que o setor privado pagou seus compromissos externos,
com moeda domstica, ao Banco Central, transformando-os em dvida pbli-
ca. Em 1988, com um PIB de aproximadamente 320 bilhes de dlares, o Brasil
possua uma dvida externa pblica de aproximadamente 100 bilhes de d-
lares (quase 85% de toda a dvida externa), que, somada dvida de curto prazo
do Tesouro, no montante de 41 bilhes de dlares, e a aproximadamente 30
bilhes de dlares de outras dvidas internas, resultava no total de quase 170
bilhes de dlares de dvida pblica, correspondentes a mais da metade do PIB.
172 Luiz Carlos Bresser Pereira
O nvel da dvida externa existente no comeo dos anos 80 revelou-se
muito elevado para os credores externos quando estes, em 1982, aps a mo-
ratria mexicana, suspenderam a sua rolagem isto , o financiamento dos
juros a serem pagos. Nesse ponto, o Brasil j havia atingido o ltimo estgio
de um processo de endividamento, que passa por fases consecutivas. Num
primeiro momento, quando este se inicia, o pas recebe emprstimos para
financiar despesas reais (com consumo ou, preferencialmente, com investi-
mentos). Depois os emprstimos servem para financiar despesas adicionais e
juros; em um terceiro momento, somente para financiar juros; em quarto lugar,
apenas uma parte dos juros a serem pagos sobre emprstimos antigos; final-
mente, os emprstimos so definitivamente suspensos.2
A dvida externa se torna alta demais, do ponto de vista do devedor, se,
mesmo depois de um processo razovel de ajustamento interno, continua
impossvel cumprir integralmente com o servio da dvida. Nesse caso, os juros
externos para serem pagos integralmente, (1) tm de ser financiados por meio
de emprstimos adicionais, o que leva a um aumento no total da dvida e/ou
(2) s podero ser pagos atravs de um supervit comercial elevado, o qual
implica em uma transferncia real de recursos para os pases credores, que
s pode ser obtido atravs de desvalorizao real da moeda local e de uma
poltica macroeconmica cronicamente recessiva.
Uma terceira situao em que a dvida externa se torna elevada demais
aquela em que ela passa a ser quase inteiramente de responsabilidade do
Estado, ao passo que as receitas provenientes das exportaes so privadas.
Nesse caso, a dvida externa torna-se um dos elementos constitutivos da cri-
se fiscal do Estado. Os juros pagos sobre a dvida externa pblica tornam-se
uma causa bsica do dficit pblico.
A dvida pblica, por sua vez, torna-se alta demais quando no apenas
ela representa uma porcentagem elevada do PIB, mas, principalmente, quando
est associada falta de crdito pblico. Por sua vez, a perda do crdito do
Estado, expressa na recusa do setor privado de emprestar ao Estado a no
ser a taxas de juros muito altas e a um prazo muito curto, ocorre porque o
pas passa a incorrer em dficit pblico primrio crnico (dficit excludo o
pagamento dos juros). Este processo est associado a uma taxa de juros paga
pelo Estado mais alta do que a taxa de crescimento do PIB o que leva a
um crescimento explosivo da dvida pblica. Quando os agentes econmi-
cos se apercebem desse fato, passam a desenvolver expectativas sobre a que-
bra do Estado, e, em conseqncia, deixam de dar crdito ao Estado. A crise
fiscal e a inflao so, obviamente, os resultados dessa situao.
O processo de ajustamento crise fiscal que a economia brasileira foi
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 173
obrigada a adotar nos anos 80 apresentou uma caracterstica perversa: em
primeiro lugar, porque foi conseguido pela reduo das importaes, pelo
aumento das transferncias reais de recursos e pela reduo dos investimen-
tos; em segundo lugar, porque foi acompanhado pela estatizao da dvida
externa, o que agravou o desequilbrio das contas pblicas; em terceiro, por-
que o aumento dos juros a serem pagos pelo Estado provocou a reduo da
poupana pblica e o aumento do dficit pblico uma vez que as despe-
sas correntes e os investimentos pblicos tm de ser minimamente mantidos;
em quarto lugar, porque as desvalorizaes reais da taxa de cmbio, acom-
panhadas por uma inflao em acelerao, aumentaram ainda mais o dficit
pblico; em quinto lugar, porque, como os bancos estrangeiros decidiram no
aumentar sua oferta de novos recursos aos pases altamente endividados, o
financiamento do dficit pblico, causado pela necessidade de pagar juros
sobre uma dvida externa elevada, teve que ser realizado custa do aumento
do endividamento interno ou da emisso de moeda.
Tanto o desequilbrio de fluxo quanto o desequilbrio de estoque eram
muito elevados em relao ao PIB. Isto, entretanto, no necessariamente im-
plica em uma crise fiscal. Para tomar um caso extremo, a Blgica e a Itlia
tm um dficit pblico superior a 100% de seu PIB, mas no se pode dizer
que o Estado belga ou italiano esteja falido. O mximo que se pode afirmar
que os dois pases esto diante de uma crise fiscal potencialmente sria. Por
que ento, no caso do Brasil, o setor pblico estava insolvente? Basicamente
porque, enquanto naqueles dois pases o Estado ainda tinha crdito, no Bra-
sil, como na maioria dos pases latino-americanos, o crdito pblico desapa-
receu. A conseqncia mais visvel do fato foram as altas taxas de inflao,
que, nos casos limite, chegaram hiperinflao.
Assim, tanto a dvida externa quanto a crise fiscal estavam na raiz da
acelerao das taxas inflacionrias durante os anos 80. Com a acelerao da
inflao, esta tende a tornar-se cada vez mais rgida para baixo, dado que os
agentes econmicos tornam-se cada vez mais conscientes dela. Os fatores
mantenedores da inflao a indexao formal e informal da economia
assumem uma importncia crescente, propiciando uma inflao do tipo au-
tnoma ou inercial. Nveis elevados de inflao, por sua vez, conduzem a um
dficit pblico maior, reduo da taxa de investimento e reduo da efi-
cincia do capital acumulado.
Outra conseqncia da crise fiscal foi a imobilizao do Estado brasi-
leiro. Uma grave crise fiscal, como a que acometeu o Brasil na dcada de 80,
acabou por conduzir o Estado a um imobilismo que se manifestou, inicial-
mente, pela sua incapacidade de proteger o valor da moeda domstica, ou
174 Luiz Carlos Bresser Pereira
seja, de conter a inflao, e de continuar a desempenhar um papel ativo no
processo de desenvolvimento do pas, como ocorria desde os anos 30. Mas,
alm disso, at mesmo atividades chamadas tpicas do Estado, como segu-
rana, educao e sade, foram duramente atingidas pela crise fiscal, indi-
cando a necessidade de uma completa reestruturao do Estado brasileiro e
de uma alterao da forma como ele intervm na economia.
Temos agora todos os elementos para definir a lgica macroeconmica
perversa da estagnao num pas altamente endividado, em que se desenvol-
veu uma crise fiscal e onde a inflao alcanou nveis inimaginveis, no limiar
da hiperinflao.
Uma dvida externa que se tornou alta demais para ser paga isto ,
incompatvel com o crescimento e com a estabilidade de preos leva a uma
transferncia de recursos reais (supervit na balana comercial e de servios
no fatores) e eliminao da poupana externa (dficit na conta corrente),
o que tem um efeito direto na reduo da taxa de investimento global (p-
blico e privado). Essa mesma dvida provoca a reduo da poupana pblica
e, conseqentemente, a reduo do investimento pblico.
O aumento da dvida externa pblica, na medida em que a dvida ex-
terna privada transferida para o Estado, e o aumento da conta de juros pagos
pelo Estado provocam uma crise fiscal. Essa crise agravada no momento
em que o dficit pblico no pode mais ser financiado por emprstimos ex-
ternos e tem que ser financiado pelo aumento da dvida interna e pela emis-
so de moeda. O aumento da dvida interna leva a um aumento da taxa de
juros interna e, como conseqncia, a um crescimento ainda maior do dfi-
cit pblico. A emisso de moeda valida a taxa de inflao vigente.
As altas taxas de inflao tendem a tornar-se inerciais ou autnomas, o
que significa que elas so rgidas para baixo, tm um mecanismo de acelera-
o endgena, esto sujeitas a choques de demanda e oferta exgenos. Como
conseqncia, a inflao tende a ser cada vez maior.
Altas taxas de inflao somadas a uma dvida interna crescente e a pra-
zos de vencimento cada vez menores para essa dvida induzem os agentes
econmicos a temer o colapso financeiro do Estado e provocam um aumen-
to da fuga de capitais. A fuga de capitais, que costumava ser pouco expressi-
va no Brasil, tornou-se substancial no final dos anos 80. Todos esses fatores
tm, obviamente, um efeito depressivo sobre a taxa de investimento, j de-
primida pela transferncia real de recursos, o desaparecimento de poupan-
as externas e a reduo da poupana pblica.
Finalmente, os novos investimentos e o estoque de capital existente per-
deram eficincia, como se pode ver pelo crescimento da relao capital/pro-
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 175
duto. A melhor explicao para essa reduo de eficincia do capital nos anos
80 provavelmente a taxa de inflao. Era comum dizer-se que a economia
brasileira estava acostumada inflao e que a indexao neutralizava a maior
parte de seus males. Isso, que j no era verdade quando a inflao estava
em torno de 40 a 50% ao ano, passa a ser inteiramente falso quando a infla-
o no mais medida anualmente, mas sim numa base mensal, com percen-
tuais de 10, 20 ou 30% ao ms. Esse tipo de inflao desorganiza a econo-
mia, torna o clculo econmico cada vez mais difcil, estimula a especulao
e induz os agentes econmicos a gastarem a maior parte do seu tempo ten-
tando ganhar, ou pelo menos no perder, com a inflao.
Esse processo de crise acabou culminando, no comeo de 1990, com o
primeiro e nico surto hiperinflacionrio vivido pela economia brasileira.
A indexao da economia retardou a hiperinflao, mas no a evitou.
A inflao tendia a se acelerar continuamente, mas essa acelerao ocorria
por deslocamentos de um nvel ou plat para outro superior, e era interrom-
pida pelos congelamentos de preos, isso desde 1986 com o Plano Cruzado.
No entanto, aps o fracasso do Plano Cruzado, e especialmente do Plano
Vero (janeiro de 1989), a inflao acelerou-se muito rapidamente, na me-
dida em que esses planos ajudaram a desorganizar a economia, conforme
vimos no captulo anterior. A confiana no sistema de indexao, que j era
muito baixa, extinguiu-se completamente com o Plano Vero, porque a in-
dexao convencional est baseada na inflao passada, e a inflao passa-
da no era mais uma boa indicao para a inflao corrente. Com a falncia
dos mecanismos de indexao, o sistema de preos perdeu a sua ncora b-
sica. A inflao comeou a se acelerar na forma de uma espiral (ver Quadro
XIX).
Na medida em que o mercado financeiro perdeu a sua confiana nos
ttulos do Tesouro, o Governo aumentou sua taxa de juros. O resultado foi
um aumento do dficit pblico e uma perda adicional perversa do crdito em
relao aos ttulos do Tesouro. Por outro lado, os sucessivos planos altera-
ram o comportamento dos agentes econmicos em relao inflao, intro-
duzindo novos fatores desestabilizantes na economia. Os agentes econmi-
cos passaram a se antecipar a possveis aes governamentais, como conge-
lamentos ou moratria da dvida interna, aumentando preos ou promoven-
do uma fuga de capitais.
Como a inflao acelerava-se a cada ms, as expectativas de que a in-
flao continuaria a se acelerar assumiu um carter auto-realizvel. A eco-
nomia estava prxima da hiperinflao, a qual acabou se materializando no
incio de 1990.
176 Luiz Carlos Bresser Pereira
Concluindo, pode-se dizer que uma crise econmica profunda, como a
crise dos anos 80 no Brasil, um claro sinal de que a antiga estratgia de
desenvolvimento econmico se esgotou. A crise fiscal uma indicao de que
o modelo de Estado no Brasil est esgotado.
Essa crise tambm um sinal de que, alm do modelo de Estado, esgo-
tou-se tambm o modelo de sociedade no Brasil. A sociedade brasileira
caracterizada por um grau muito elevado de concentrao de renda. Enquanto
o pas se desenvolvia rapidamente, a concentrao de renda no se apresen-
tava como um problema maior. Mas, no momento em que cessou o desen-
volvimento, tornou-se uma das principais fontes de um conflito social cont-
nuo cada vez mais grave um conflito que est na base do dficit pblico e
da acelerao da inflao.
NOTAS
1 Analisei esta crise como sendo essencialmente uma crise do Estado em uma srie de
trabalhos, depois reunidos no livro A crise do Estado (1992). Meu primeiro trabalho sobre
o assunto data de 1987 (Mudanas no padro de financiamento do investimento no Brasil).
2 Nos anos 80 e incio dos anos 90, produziu-se uma enorme literatura sobre a dvida
externa. Destaco aqui Batista Jr. (1983, 1987, 1988), Arida, org. (1982), Bresser Pereira, org.
(1989), Cardoso e Fishlow (1988), Carneiro e Werneck (1990) e Baer (1993). Sobre minha
experincia pessoal na negociao da dvida, antecipando o Plano Brady, ver Bresser Pereira
(1995).
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 177
178 Luiz Carlos Bresser Pereira
Captulo 29
AS TENTATIVAS DE ESTABILIZAO
Entre 1979 e 1994, a inflao foi o sintoma mais agudo da crise enfren-
tada pela economia brasileira. Essa inflao resistiu a inmeros plano de estabi-
lizao: desde planos ortodoxos, que pretenderam reduzir a inflao por meio
do controle estrito da emisso de moeda, at planos heterodoxos, que lana-
ram mo de mecanismos no convencionais de estabilizao, como o congela-
mento de preos. Nesse perodo, houve pelo menos doze planos de estabilizao
fracassados no objetivo de conter a inflao, para, afinal, em 1994, com o Plano
Real, conseguir-se o controle da inflao. O Grfico II exibe a enorme oscila-
o da inflao entre 1986 e 1994, quando os planos de estabilizao mais
expressivos foram adotados. A primeira queda, em 1986, foi a do Plano Cru-
zado; a segunda, em 1987, correspondeu ao Plano Bresser; a terceira, em 1989,
ao Plano Real; a quarta, em 1990, ao Plano Collor I; a quinta, em 1991, ao
Plano Collor II; finalmente, a sexta, em 1994, correspondeu ao Plano Real.
Os demais planos de estabilizao no aparecem em termos grficos porque
no lograram reduzir a taxa de inflao. Em certos casos, como foi o do Plano
Delfim I e Delfim III, a taxa de inflao, na verdade, dobrou depois do plano.
Grfico II: Taxa de Inflao Mensal (IGP-DI), janeiro 1986 a junho 1995
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 179
Todos os planos de estabilizao tentados no Brasil desde que a Gran-
de Crise se desencadeia em 1979 fracassaram ou porque no levaram em conta
o componente inercial, que exigia uma soluo heterodoxa de neutralizao
da inrcia, ou porque as medidas ortodoxas de ajuste fiscal no foram sufi-
cientemente firmes e decididas. Fiz um levantamento desses planos, soman-
do doze planos fracassados antes do Plano Real: cinco foram principalmen-
te heterodoxos, sete principalmete ortodoxos. Alguns desses planos foram pla-
nos de emergncia, outros foram programas cuidadosamente preparados. Os
planos heterodoxos intervinham diretamente nos preos, ou na forma pela
qual eles eram indexados, para, assim, neutralizar a inrica inflacionria; os
planos ortodoxos, por sua vez, limitavam-se adoo de polticas fiscais e
monetrias. Alguns usaram estratgias de choque, buscando terminar com a
inflao de um golpe, outros optaram pelo gradualismo. Em certos casos, mes-
mo que a inflao no tenha sido controlada, a situao econmica de modo
geral melhorou aps o plano de estabilizao, enquanto outros s fizeram
piorar o estado da economia.
Faamos um resumo desses planos de estabilizao adotados ao longo
desse perodo:
1. Plano Delfim I (1979). Um programa populista de direita que pre-
tendia ser desenvolvimentista e monetarista ao mesmo tempo. Foi baseado
na prefixao da taxa de cmbio, que foi sendo reajustada supondo-se uma
inflao declinante. Essa estratgia era, poca, popular entre os membros
da escola de Chicago, a Meca dos economistas monetaristas. Os reajustes cada
vez menores da taxa de cmbio iriam direcionar as expectativas dos agentes
econmicos e lev-los a corrigir seus preos tambm da mesma forma, ou seja,
de forma declinante. Mas, ao contrrio do planejado, a inflao subiu de 40%
para 100% ao ano, e a dvida externa de US$ 40 para US$ 60 bilhes em
dois anos.
2. Plano Delfim II (1981). Foi um clssico programa de estabilizao
ortodoxo, acompanhado por uma forte recesso. O PIB caiu 3% em 1981 e
a inflao permaneceu em um patamar de 100% ao ano at o final de 1982.
3. Plano Delfim III (1983). Um programa ortodoxo monitorado pelo
FMI e novamente marcado pela recesso. Dado o carter inercial da infla-
o ignorado por esse plano e pelos dois planos anteriores e da ma-
xidesvalorizao do cruzeiro em fevereiro de 1983, a inflao saltou para
200% ao ano, ou 10% ao ms. No entanto, o principal objetivo desse plano
180 Luiz Carlos Bresser Pereira
foi alcanado, obteve-se um equilbrio no Balano de Pagamentos, graas
principalmente reduo das importaes, que propiciou a obteno de ele-
vados saldos na balana comercial.
4. Plano Dornelles (abril-julho, 1985). Um plano baseado no congela-
mento de preos pblicos e de setores oligopolistas, equivalentes a 40% do
PIB, combinado com uma poltica monetria de tipo estritamente monetarista,
conduzida pelo Banco Central. Tambm ignorou o carter inercial da infla-
o. Esta reduziu-se de 12% para 7% ao ms, permanecendo nesse nvel
durante trs meses, enquanto foi mantido o congelamento parcial de preos.
Quando os preos foram liberados, a inflao, como era de se esperar, retor-
nou a seu nvel anterior, recompondo-se assim o equilbrio dos preos relati-
vos que o congelamento de uma parte dos preos havia alterado.
5. Plano Cruzado (maro-dezembro, 1986). Um programa de estabili-
zao heterodoxo, baseado no congelamento de preos. O primeiro a basear-
se na teoria da inflao inercial. Foi bem formulado e contou com enorme
apoio popular, mas se perdeu pela implementao populista, que levou ao
excesso de demanda. A inflao baixou de 14% ao ms para praticamente
zero, devido ao congelamento de preos. Entretanto, em dezembro, quando
no foi mais possvel manter o congelamento de preos, a inflao explodiu.
6. Plano Bresser (junho-dezembro, 1987). Foi um plano heterodoxo de
emergncia. Nele no estavam inclusos nem medidas de desindexao da
economia, nem uma reforma monetria. No se usou uma ncora nominal.
A taxa de cmbio no foi congelada. Estava baseado em um congelamento
temporrio de preos e em um ajuste fiscal incompleto. Os preos relativos,
inclusive a taxa de cmbio, estavam profundamente desalinhados no momento
do plano. Como era esperado, a inflao comeou novamente a crescer vaga-
rosamente. O programa deveria ter sido complementado por uma gradual
correo dos preos pblicos (o que foi feito) e por uma reforma fiscal ao final
do ano, que serviriam para preparar um definitivo congelamento de preos
a ser decretado no comeo de 1988. Em razo da falta de apoio poltico, o
plano no foi complementado. Devido a esse fato, o autor deste livro, respon-
svel pelo plano, demitiu-se do cargo de Ministro da Fazenda ainda em 1987.
7. Plano Arroz com Feijo (1988). Outro plano ortodoxo, baseado na
adoo de polticas fiscal e monetria restritivas. Alm de ineficiente como
plano de estabilizao, no houve tambm apoio para levar a cabo o ajuste
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 181
fiscal anunciado. A inflao, que era de 14% em dezembro de 1987, elevou-
se gradualmente, atingindo 30% ao final do ano.
8. Plano Vero (janeiro-junho, 1989). Um programa heterodoxo por-
que estava baseado no congelamento de preos e na desindexao, mas tam-
bm e principalmente um programa ortodoxo, monetarista, porque tentou
sustentar-se em uma taxa de juros extremamente elevada (16% ao ms em
termos reais, no primeiro ms). A deciso de adotar tal taxa de juros acele-
rou o fracasso do plano, na medida em que indicou que o Governo estava
falido. O plano comeou a entrar em colapso em junho e transformou uma
inflao elevada em uma hiperinflao em dezembro, com uma taxa de in-
flao superior a 50% ao ms.
9. Plano Collor I (maro-abril, 1990). Um programa essencialmente
ortodoxo, embora com uma aparncia heterodoxa porque envolveu um r-
pido congelamento de preos. De fato, foi um plano ortodoxo, apoiado em
violento corte na liquidez financeira do sistema, por meio do bloqueamento
de 70% dos ativos financeiros. Ignorou a teoria da inflao inercial e no fez
acompanhar o congelamento de preos de uma tablita que neutralizasse o
desequilbrio dos preos relativos derivado do reajuste escalonado caracte-
rstico da inflao inercial. O plano teve xito em baixar a inflao de 82%
em maro para 3% em abril. Aps essa drstica reduo inicial, a inflao
deveria ser controlada por uma combinao de polticas fiscal e monetria e
de polticas de renda. O abandono formal, em 15 de maio, da poltica de renda,
que deveria ter sido utilizada para controlar a inflao residual, marcou o final
de um plano de estabilizao incompleto.
10. Plano Eris (maio-dezembro, 1990). A segunda fase do Plano Col-
lor I, na qual seu carter monetarista torna-se claro. Na verdade, foi a estra-
tgia mais estritamente monetarista e ortodoxa j adotada no Brasil. Seu ob-
jetivo era eliminar a inflao residual deixada pelo Plano Collor I. Os esfor-
os para o ajuste fiscal, para os quais o Presidente Collor continuou forne-
cendo apoio completo, e que produziram supervits oramentrios em 1990
e 1991, foram complementados por uma ncora monetria: o crescimento
para a base monetria no segundo semestre de 1990 foi limitado a 9%. O
plano no foi oficialmente adotado pelo FMI, mas, dado o seu carter orto-
doxo, recebeu total apoio de Washington, como eu verifiquei pessoalmente
quando visitei essa cidade em julho de 1990. O Plano Eris evidenciou mais
uma vez o carter endgeno da oferta de moeda quando a inflao alta e
182 Luiz Carlos Bresser Pereira
inercial. Apesar da enorme recesso ocasionada pela poltica monetria res-
tritiva, a inflao gradualmente acelerou-se, aumentando de 6% em maio para
20% em dezembro, quando a oferta de moeda finalmente saiu completamente
do controle das autoridades monetrias.
11. Plano Collor II (janeiro-abril, 1991). Um congelamento de preos
de emergncia combinado com uma grande elevao dos preos pblicos (um
tarifao). Foi um remendo antes do que plano de estabilizao. A inflao
aumentou imediatamente, alcanando 7% em abril e 10% em junho.
12. Plano Marclio (maio 1991-outubro 1992). Um programa ineficien-
te, gradualista, rigorosamente ortodoxo, patrocinado pelo FMI, que anali-
sarei no final deste captulo.
Afinal, por que o Brasil foi incapaz de estabilizar a economia entre 1979
e 1994? Foi devido falta de apoio poltico por parte da sociedade e dos
polticos para que se fizesse o ajuste fiscal necessrio? Ou teria sido a falta
de competncia tcnica dos economistas brasileiros, que no entenderam e
no tomaram as medidas corretas para conter uma inflao crnica do tipo
inercial como a brasileira? Cada uma desses questes corresponde a uma teoria
para explicar o fracasso da estabilizao. A explicao convencional afirma
que os planos de estabilizao fracassaram porque as equipes de economis-
tas que se encarregaram dos planos de estabilizao no contaram com apoio
poltico suficiente para os programas de estabilizao (hiptese poltica). A
explicao alternativa a de que essas mesmas equipes demonstraram inca-
pacidade em lidar com a inflao inercial (hiptese de ineficincia ou incom-
petncia dos economistas).
Na verdade, essas hipteses so complementares. Quando o fracasso em
estabilizar recorrente, no se pode afastar a hiptese de incompetncia das
equipes econmicas, e de que as polticas de estabilizao por elas adotadas
no foram as mais adequadas para resolver os problemas a que se propunham,
ou que forma ineficientes, isto , os seus custos foram muito elevados. Por
outro lado, dada a crise fiscal do Estado, a falta de ajuste fiscal indica que
no houve apoio poltico suficiente para estabilizao, que a sociedade de-
monstra uma certa acomodao em relao inflao. Em outras palavras,
isso indica que a hiptese poltica tambm faz sentido.
De fato, em cada um dos planos, essas hipteses foram mais ou menos
relevantes para explicar os seus insucessos. Nos planos de estabilizao du-
rante o Governo Sarney (1985-1989), houve uma clara falta de apoio polti-
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 183
co. O mesmo no ocorreu nos planos do perodo militar (1979-1994) e nos
planos do Governo Collor (1990-1992), quando no faltou vontade e apoio
poltico para a estabilizao. Nesse ltimo caso, prevalece a hiptese de ine-
ficincia da equipe econmica.
O maior exemplo de insucesso por ineficincia da poltica adotada foi
o Plano Marclio (1991-92). O plano contava com um amplo apoio interno
e com sustentao oficial do FMI. A equipe econmica foi composta por al-
guns dos mais destacados economistas brasileiros, todos com formao nas
melhores universidades dos Estados Unidos. O Plano caracterizou-se pela
ortodoxia. Era um plano que adotava o gradualismo como estratgia de es-
tabilizao, ignorava o carter inercial da inflao brasileira, e utilizava o
ajuste fiscal, a elevao da taxa de juros e a decorrente recesso interna como
os principais instrumentos de sua poltica de estabilizao. As taxas de juros
reais acenderam ao patamar de 40% ao ano em termos reais, em 1992, man-
tendo a economia em permanente recesso. Isso fez com que, perversamen-
te, houvesse um aumento do dficit pblico. O oramento, que havia sido
superavitrio em 1990 e 1991, tornou-se novamente deficitrio em 1992,
embora a disciplina fiscal tenha sido mantida. O ressurgimento do dficit
deveu-se aos elevados juros pagos pelo Estado pela dvida pblica. Mas, apesar
de todo o apoio, os resultados do Plano Marclio foram bastante nulos. Du-
rante a sua vigncia, a inflao acelerou-se at novembro de 1991, quando
atingiu 25% ao ms. Desse ms at abril, a taxa de inflao declinou mode-
radamente, chegando a 18% em abril. Entre maio e agosto, entretanto, esta-
bilizou-se em cerca de 22%. Em outubro, quando Marclio Marques Morei-
ra deixou o ministrio, a inflao estava de volta aos 25% ao ms.1
NOTA
1
Sobre o fracasso dos planos de estabilizao, ver Bresser Pereira (1996a). Ver tam-
bm Lopes (1989).
184 Luiz Carlos Bresser Pereira
Captulo 30
AS REFORMAS ESTRUTURAIS
Crise sinal de que necessrio mudar. O Brasil no passou pela mais
grave crise econmica de sua histria (1979-1994) sem ter sofrido grandes
transformaes. Durante o perodo da crise, principalmente aps 1987, quan-
do comeou a se verificar que a crise estava relacionada com uma grave crise
fiscal do Estado, uma srie de reformas estruturais passaram a ser realizadas.
As reformas econmicas, como a privatizao, a abertura comercial, o
ajuste fiscal, implicaram em uma verdadeira embora incompleta reforma do
Estado. Foram orientadas para o mercado na medida em que tenderam a
valorizar o sistema de preos como instrumento de coordenao e de alocao
de recursos da economia. Foram reformas do Estado na medida em que re-
cuperavam suas finanas e mudavam sua forma de interveno.
Estas reformas foram, de um lado, conseqncia da crise do Estado
ou seja, da crise fiscal, da crise do modelo de substituio de importaes, e
da crise da forma burocrtica de administrar o Estado. De outro, foram o
resultado das grandes alteraes no campo social, poltico e ideolgico que
ocorreram simultnea e correlacionadamente. As transformaes sociais es-
tiveram relacionadas com um enorme aumento da classe mdia e do univer-
so de pessoas que conseguiram completar um curso de nvel superior. As
mudanas ideolgicas e polticas foram marcadas pela crise do populismo e
do nacional-desenvolvimentismo, ou seja, de uma concepo segundo a qual
o desenvolvimento econmico deveria voltar-se primordialmente para o mer-
cado interno, basear-se no aumento da demanda agregada por meio de au-
mento dos salrios (keynesianismo bastardo), e ser conduzido pelo Estado,
por meio de investimentos diretos e subsdios que no levavam em conside-
rao o dficit pblico, visto tambm como uma forma de estimular a deman-
da (novamente keynesianismo bastardo). Em seu lugar, surgiu com fora o
neoliberalismo o liberalismo econmico radical defendendo a total re-
tirada do Estado da rea econmica e social. Finalmente, uma mudana eco-
nmica fundamental foi a globalizao da economia, ou seja, o aumento brutal
da competio internacional devido reduo dos custos dos transportes e
das comunicaes. A globalizao reduziu os monoplios internos e limitou
a capacidade dos estados nacionais de promover polticas econmicas e sociais.
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 185
As reformas ocorreram principalmente entre 1987 e 1992. No foram,
entretanto, inicialmente percebidas, porque a alta inflao cegava a todos.
De fato, difcil para quem no compreende a lgica da inflao inercial
admitir que um substancial ajuste fiscal e as reformas estruturais pudessem
ter sido realizadas enquanto a inflao permanecia inercialmente elevada. Era
especialmente difcil entender como o Governo havia transformado o dficit
em supervit fiscal, e mesmo assim a inflao continuava altssima. Nesse
momento, ignoravam que a caracterstica fundamental da inflao inercial
ser autnoma da demanda e tornam a oferta da moeda endgena. Os preos
aumentam inercialmente devido ao carter defasado desse aumento, ou seja,
devido ao carter formal e informalmente indexado de todos os preos.
Por outro lado, o fato de essas reformas orientadas para o mercado te-
rem sido tambm orientadas para o interesse nacional brasileiro fez com que
os idelogos neoliberais e os agentes econmicos interessados nas reformas
afirmassem que elas no estavam ocorrendo ou que no eram profundas o
suficiente.
Alm de orientadas para o mercado, as reformas foram orientadas para
o Brasil porque levaram ativamente em considerao os interesses nacionais
e os fundamentos macroeconmicos. Elas no foram, ou no esto sendo,
simplesmente reformas preocupadas somente em conquistar a confiana de
Washington (do Governo americano e das instituies internacionais) e de
Nova York (do sistema financeiro internacional), e construir a credibilida-
de do pas. Elas podiam tambm ter esse objetivo, mas no cometeram o
erro (que o Mxico do presidente Salinas cometeu) de assumir que os inte-
resses de Washington correspondem ao interesse nacional do Brasil, ou que
os banqueiros e financistas de Nova York fossem os depositrios da racio-
nalidade econmica universal.
H trs tipos de reformas econmicas, que so tambm reformas do
Estado, em andamento atualmente no Brasil: (1) reformas diretamente rela-
cionadas estabilizao econmica, entre as quais o ajuste fiscal a mais
importante; (2) reformas estruturais da economia, orientadas para o merca-
do, entre as quais as mais importantes so a liberalizao comercial e a pri-
vatizao; e, finalmente, (3) a reforma do aparelho do Estado ou da admi-
nistrao pblica.
Vejamos cada uma delas:
Ajuste fiscal. Na segunda metade dos anos 80, aps o colapso do Plano
Cruzado, o dficit pblico, que anteriormente costumava ser visto como algo
bom, passou a ser combatido por amplos setores da sociedade brasileira.
186 Luiz Carlos Bresser Pereira
Consolidou-se a idia de que a existncia de um dficit crnico e elevado era
prejudicial economia pois era um reflexo da grave crise fiscal que atingia o
Estado brasileiro. E que essa crise fiscal era, por sua vez, responsvel pelos
altos nveis de inflao e pela estagnao econmica. Abandonou-se, portanto,
a crena em um tipo de keynesianismo ingnuo ou bastardo muito praticado
na Amrica Latina segundo o qual o dficit pblico traria benefcios eco-
nomia via expanso da demanda agregada.
A percepo da gravidade da crise fiscal somente tornou-se clara e am-
plamente aceita a partir de 1987. Algumas medidas j haviam sido tomadas
a partir de 1981 no sentido de controlar o dficit pblico. Houve um peque-
no aumento de impostos e tambm tomaram-se importantes medidas para
tornar mais claras e confiveis as contas do oramento fiscal. Esse fato, mais
os supervites comerciais alcanados desde 1983, criaram a iluso de que os
problemas fiscais e a prpria crise da dvida externa, cuja base era fiscal, es-
tivessem resolvidos e no seriam um empecilho para o sucesso do Plano Cru-
zado.1 Quando, em meados de 1986, parte da equipe econmica que elabo-
rou e implantou o Plano Cruzado percebeu a necessidade de novos ajustes
fiscais, houve uma resistncia poltica muito grande da sociedade adoo
de medidas que implicavam em novos aumentos de impostos e corte de gastos.
Em 1987, durante a minha permanncia no Ministrio da Fazenda, pro-
curei alertar a sociedade brasileira sobre a gravidade da crise fiscal. Com isso,
buscava criar um clima favorvel adoo das medidas necessrias para o
ajuste fiscal, sem o que tinha plena conscincia no se conseguiria uma
estabilizao econmica duradoura. Entretanto, no obtive o apoio poltico
para a implantao dessas medidas. Sem condies de levar adiante o ajuste
fiscal, renunciei ao cargo de Ministro da Fazenda. Creio, entretanto, que, pelo
menos, consegui fazer com que a importncia de resolver a crise fiscal do Es-
tado se tornasse mais perceptvel sociedade brasileira. No obstante, o Go-
verno nada fez para realizar o ajuste. E, assim, o dficit pblico, em 1989,
foi o maior da dcada atingindo 6,9% do PIB.2
Conforme podemos verificar pelo Quadro XXI, o ajuste fiscal foi afinal
empreendido no Governo Collor. Alm de haver promovido uma srie de
cortes nos gastos pblicos, o confisco monetrio decretado no Plano Collor
provocou uma substancial reduo no tamanho da dvida pblica interna
e, conseqentemente, das despesas com o pagamento de juros. O dficit p-
blico foi eliminado em 1990 e 1991. E se manteve reduzido nos trs anos
seguintes. Seu aumento deveu-se antes ao aumento dos juros reais pagos pelo
Estado do que por aumento de gastos. No entanto, muito ainda necess-
rio fazer para conseguir-se um ajuste fiscal duradouro. Durante o Governo
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 187
Itamar Franco, as despesas do estado, principalmente com pessoal, voltam
a subir. Em 1995, havia sinais de um substancial aumento do dficit, prin-
cipalmente dos estados e municpios. A partir desse ano, o Governo Fer-
nando Henrique Cardoso retoma o ajuste fiscal, que de 5% do PIB nesse ano
cai para 3% em 1997.
Quadro XXI: Dficit Pblico (Necessidades de Financiamento
do Setor Pblico como % do PIB)
Unio Estados e Empresas Total
Municpios Estatais
1985 1,10 1,00 2,30 2,40
1986 1,33 0,90 1,39 3,62
1897 3,18 1,60 0,87 5,65
1988 3,45 0,40 0,97 4,82
1989 3,93 0,56 2,36 6,85
1990 -2,33 0,39 0,61 -1,33
1991 -0,11 -0,64 0,78 0,03
1992 0,80 0,80 0,60 2,20
1993 0,00 -0,20 0,00 -0,20
1994 -1,50 0,60 -0,30 -1,30
1995* 0,40 2,60 0,50 3,50
Deflator: IGP-DI. Valores corrigidos mensalmente. Valores negativos correspondem a supervit.
* Projeo.
Fonte: Banco Central.
Abertura Comercial. A abertura comercial foi a reforma estrutural mais
importante ocorrida na economia brasileira. Esta reforma j deveria ter ocor-
rido h muito tempo, desde os anos 60, quando a estratgia de substituio
de importaes demonstrou estar esgotada. No entanto, somente 20 anos mais
tarde, ela comeou a ser pensada e planejada seriamente, e s nos incio dos
anos 90 seria efetivamente posta em prtica.
Em 1987, a CPA (Comisso de Poltica Aduaneira) iniciou os estudos
para liberalizar o comrcio internacional. Pouco depois, outro grupo de eco-
nomistas estatais propuseram no BNDES que o Brasil se engajasse em um
programa de integrao produtiva internacional. O projeto da CPA, que
aparece delineado no Plano de Controle Macroeconmico de 1987, previa a
eliminao de todas as quotas e controles administrativos s importaes,
substituindo-os por um sistema tarifrio. Para isso, era necessrio, primeiro,
revisar totalmente o sistema tarifrio, que apresentava profundas distores
aps vrios anos de m utilizao. Nesse primeiro estgio, entretanto, o n-
188 Luiz Carlos Bresser Pereira
vel de proteo tarifria deveria permanecer elevado. Apenas em um segun-
do estgio as tarifas deveriam ser gradualmente reduzidas.
Como Ministro da Fazenda, dei total apoio ao projeto que era liderado
pelo economista Jos Tavares de Arajo e pelo Secretrio de Poltica Econ-
mica Yoshiaki Nakano. Nesse sentido, o Governo comeou a negociar com
o Banco Mundial um emprstimo de um bilho de dlares para financiar as
mudanas estruturais necessrias liberalizao comercial. Em dezembro de
1987, quando deixei o Governo, a reviso do sistema tarifrio estava com-
pleta. Ela seria implementada poucos meses depois.
Entretanto, o processo efetivo de liberalizao comercial ocorreu ape-
nas aps a eleio de Collor. Todas as barreiras administrativas importa-
o foram eliminadas e foi anunciado um programa de reduo progressiva
de tarifas ao longo de quatro anos. Nos quatro anos subseqentes, o plano
foi implementado, transformando o Brasil em uma economia muito mais
aberta do que era. Como se pode ver pelo Quadro XXII, a proteo mdia
caiu de 32,2% em 1990 para 14% em 1994, e praticamente todas as quotas
e controles administrativos sobre as importaes foram eliminados.
Quadro XXII: Tarifas de Importao
1990 1991 1992 1993 1994
Maior tarifa 105,0 85,0 65,0 55,0 35,0
Tarifa mdia 32,2 25,3 20,8 16,5 14,0
Em 1995, no entanto, devido aos freqentes saldos negativos da balan-
a comercial e s evidncias de dumping e concorrncia desleal por parte de
produtores localizados em pases do Leste Asitico, principalmente na Chi-
na, o Governo elevou as tarifas de importao de alguns produtos, como cal-
ados, tecidos e automveis, para at 35%. Apesar dessas medidas, no se
pode dizer que houve uma reverso do processo de abertura da economia.
Foram medidas que afetaram poucos setores e, de acordo com o anunciado
pelo Governo, so transitrias. Alm disso, especificamente em relao in-
dstria automobilstica, ela uma indstria estratgica, com muitos encadea-
mentos para frente e para trs, o que justifica um tratamento especial.
O importante dessa reforma que ela seguiu o princpio do interesse
nacional. H uma velha interpretao nacionalista segundo a qual a abertura
comercial um resultado das presses dos pases desenvolvidos sobre os subde-
senvolvidos exercidas diretamente por meio de instituies como o Banco Mun-
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 189
dial. Essa viso no faz sentido. As condies impostas pelo Banco Mundial
para realizar emprstimos ao pas e as presses do GATT no tiveram um papel
importante nesse caso. Apenas as retaliaes unilaterais foram relevantes, mas
direcionavam-se especificamente contra reserva de mercado radical na inds-
tria de informtica. Mesmo nesse caso, a oposio interna reserva na rea
de informtica foi o principal responsvel por sua revogao. Outra viso sugere
que a hegemonia ideolgica dos pases desenvolvidos foi o fator determinan-
te para a abertura. No h dvidas a esse respeito. A cultura brasileira, sendo
o Brasil um pas perifrico e no desenvolvido, sofre uma enorme influncia
ideolgica por parte dos centros econmicos e culturais desenvolvidos. Mas
essa influncia apenas uma parte do jogo que explica a abertura comercial
no Brasil. A deciso de abrir a economia foi essencialmente domstica.
Quando os economistas governamentais implementaram um vigoroso
programa de liberalizao comercial, no estvamos visando construir uma
credibilidade favorvel ao pas, mas estvamos reconhecendo que a estrat-
gia de substituio de importaes j havia se esgotado h muito tempo, e
que a abertura comercial seria a melhor poltica industrial para o pas uma
poltica que iria compelir as empresas brasileiras (inclusive as multinacionais
aqui instaladas, tambm beneficirias do mercado fechado) a aumentar a
produtividade e a competir com as empresas estrangeiras.3
A abertura comercial foi um grande sucesso. As empresas tiveram que
se reestruturar, tiveram que eliminar o excesso de pessoal, abandonaram al-
guns setores em que atuavam, passaram a atuar em outros setores, voltaram-
se s exportaes. Entre 1990 e 1994, a produtividade aumentou quase 40%.
Cerca de 900 empresas receberam o certificado de qualidade ISO-9000 para
seus produtos e processos produtivos. Apenas poucas empresas tiveram pro-
blemas reais. Praticamente todas provaram ser capazes de enfrentar a com-
petio internacional.
Privatizao. O programa de privatizao que havia comeado timida-
mente em meados dos anos 80 ganhou tambm nova fora em 1990. Deu-se
prioridade s empresas localizadas nos setores competitivos que estavam sob
controle do Estado. A indstria siderrgica foi a primeira a ser privatizada.
No incio da dcada de 90, todas as grandes empresas siderrgicas foram
privatizadas (Siderrgica Nacional, Cosipa, Usiminas, Tubaro). A privati-
zao da indstria petroqumica est em andamento e as empresas gerado-
ras de energia eltrica e de telecomunicaes sero provavelmente as prximas.
O Brasil est se aproximando agora (1995) do momento de privatizar
empresas monopolistas estatais, como so as de energia eltrica, de teleco-
190 Luiz Carlos Bresser Pereira
municaes, distribuidoras de gua e de gs canalizado. Nesse caso, ao mes-
mo tempo em que se faz a privatizao, necessrio estabelecer sistemas
regulatrios eficientes. Quando o mercado competitivo, no h dvidas
quanto superioridade das empresas privadas. No caso de monoplios na-
turais, entretanto, a regulamentao torna-se um fator fundamental.4
A privatizao no Brasil tem sido implementada de forma cautelosa e
competente. Os resultados so satisfatrios. Entre 1991 e 1994, 32 empre-
sas estatais foram privatizadas. O Tesouro recebeu pela venda dessas empresas
7,9 bilhes de dlares. As duas motivaes bsicas por trs dos programas
eram obter uma maior eficincia operacional para as empresas e ajudar a
resolver a crise fiscal do Estado. As primeiras privatizaes foram submeti-
das a algumas crticas por causa da utilizao das chamadas moedas podres,
isto , de velhos ttulos pblicos cujos pagamentos no haviam sido honra-
dos pelo Governo brasileiro, como forma de pagamento nos leiles pblicos
de privatizao. Dada a crise fiscal do Estado, esses ttulos poderiam ter sido
consolidados no longo prazo, permitindo que o Governo recebesse uma maior
parcela de dinheiro vivo nas privatizaes. Mais recentemente, at porque o
estoque de moedas podres est se esgotando, o Governo est pressionan-
do os interessados em comprar as empresas estatais para que ofeream uma
parcela de dinheiro vivo nessas transaes.
Reforma Administrativa. A reforma do aparelho do Estado ou da ad-
ministrao pblica deve ser entendida dentro de um contexto de redefinio
do papel do Estado, que deixa de ser o responsvel direto pelo desenvolvi-
mento econmico e social, para se tornar seu promotor e regulador. O Esta-
do assume um papel menos executor ou prestador direto de servios. Em seu
novo papel, busca-se o fortalecimento das suas funes de regulao e de
coordenao, particularmente no nvel federal, e a progressiva descentralizao
vertical, para os nveis estadual e municipal, das funes executivas no cam-
po da prestao de servios sociais e da infra-estrutura.
As grandes linhas do programa de reforma do Estado em andamento
durante o Governo Fernando Henrique Cardoso visam modernizar a admi-
nistrao pblica brasileira, fazendo com que ela perca no apenas suas ca-
ractersticas patrimonialistas e clientelistas, mas tambm abandone uma vi-
so burocrtica rgida, em favor de uma administrao pblica gerencial.5
Partindo-se de uma perspectiva histrica, observa-se que a administra-
o evoluiu atravs de trs modelos bsicos: a administrao patrimonialista,
administrao pblica burocrtica e administrao pblica gerencial. A ad-
ministrao patrimonialista funciona como uma extenso do poder do so-
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 191
berano. No se diferencia o patrimnio pblico do Estado do patrimnio
privado do soberano e da oligarquia que o rodeia. No momento em que o
capitalismo e a democracia tornam-se dominantes, no sculo XIX, esse tipo
de administrao do Estado torna-se inaceitvel.
A administrao pblica burocrtica surge na segunda metade do s-
culo XIX, na poca do Estado liberal, como forma de combater a corrup-
o e o nepotismo patrimonialista. Os princpios fundamentais desse tipo
de administrao so a profissionalizao, a impessoalidade, o formalismo
e a idia de carreira. Dada a predominncia do patrimonialismo, que busca
combater, a administrao pblica burocrtica parte de uma desconfiana
fundamental em todos os agentes do Estado. Em conseqncia, busca-se um
controle rgido de todos os processos processos de admisso de funcio-
nrios, de compra, de atendimento dos cidados. Dessa forma, a adminis-
trao pblica burocrtica se revela efetiva em evitar a corrupo e o ne-
potismo. Na medida, entretanto, que, no sculo XX, o Estado cresce de for-
ma extraordinria, passando a responsabilizar-se pela rea social (educao,
sade, cultura, previdncia) e pela rea de infra-estrutura (energia, transpor-
tes, comunicaes), verifica-se que esse tipo de administrao lenta, cara,
ineficiente.
A administrao pblica gerencial surge na segunda metade do sculo
XX como resposta, de um lado, ao aumento das funes sociais e econmi-
cas do Estado, e, de outro, ao desenvolvimento tecnolgico e globalizao
da economia mundial. A eficincia da administrao pblica a necessida-
de de reduzir custos e aumentar a qualidade dos servios, tendo o cidado
como destinatrio torna-se ento essencial. A reforma do aparelho do
Estado passa a ser orientada predominantemente pelos valores da eficincia
e qualidade na prestao de servios pblicos e pelo desenvolvimento de uma
cultura gerencial nas organizaes. A estratgia administrativa por exceln-
cia passa a ser a definio dos objetivos e o controle a posteriori dos resulta-
dos, em vez do controle passo a passo dos processos.
A implantao da administrao gerencial no setor pblico brasileiro
envolve trs tipos de mudanas: (1) reforma constitucional, particularmente
a flexibilizao da estabilidade dos funcionrios pblicos; (2) mudanas cul-
tural, substituindo-se uma cultura burocrtica ainda dominante no pas por
uma cultura gerencial; e (3) mudanas na gesto: a implementao na prti-
ca da administrao pblica gerencial. Dentro dessa perspectiva, o patri-
monialismo continua um inimigo poderoso. J no existe mais uma cultura
patrimonialista no pas, na medida em que a confuso entre o patrimnio
pblico e privado amplamente criticada, mas as prticas fisiolgicas e clien-
192 Luiz Carlos Bresser Pereira
telistas continuam vivas. No plano de mudana estritamente cultural, entre-
tanto, o objetivo fundamental superar a cultura burocrtica.
No plano da gesto, o objetivo dar autonomia s agncias prestadoras
de servio do Estado, que devero ter liberdade na administrao de seus
recursos financeiros e de pessoal. Um oramento global e a flexibilizao da
estabilidade so assim essenciais. A administrao se realizar por meio de
um contrato de gesto que defina com clareza os objetivos ou indicadores de
desempenho da agncia e permita o controle por resultados.
Distinguem-se dois tipos de servios do Estados: aqueles que envolvem
o emprego do poder de Estado, sendo exclusivos do Estado (fiscalizao,
polcia, regulamentao), e aqueles que podem ser realizados tambm pelo
setor privado, mas que o Estado promove por estarem envolvidos direitos
humanos fundamentais ou economias externas, que no permitem que a ati-
vidade seja plenamente recompensada pelo mercado. Este o caso das esco-
las, das universidades, dos hospitais, dos centros de pesquisa, dos museus.
Neste caso, como no se usa do poder de Estado, no h razo para que a
propriedade seja estatal. Entretanto, como o servio subsidiado, no deve
ser privado, com fins lucrativo. Nesse sentido, prope-se que a propriedade
desse tipo de servio se torne pblica no-estatal: pblica porque voltada
para o interesse pblico, no-estatal, porque a fundao deixa de ser par-
te direta do aparelho do Estado.
NOTAS
1 Este equvoco foi cometido por um dos melhores economistas brasileiros, Antnio
Barros de Castro, que publicou em 1985, com um assistente, A economia brasileira em mar-
cha forada. Sua argumentao era to convincente que a incorporei na segunda edio, de
1985, deste livro. O erro de Castro foi subestimar a crise fiscal, da qual eu logo em seguida
me daria conta.
2 Sobre minha experincia no Ministrio da Fazenda, em um momento de crise aguda
sem precedentes em funo do colapso do Plano Cruzado, ver Bresser Pereira (1992 e 1995).
3 Sobre a abertura comercial, ver Canuto (1994b), Moreira e Correia (1997), Nassuno
(1998).
4 Sobre a privatizao no Brasil, ver Pinheiro (1996), Alves (1996) e Paula (1997).
5 Sobre a reforma administrativa de carter gerencial em curso no Governo Fernando
Henrique Cardoso, ver Bresser Pereira (1996a, 1996b).
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 193
194 Luiz Carlos Bresser Pereira
Captulo 31
O PLANO REAL
A primeira parte do Governo Fernando Collor, quando foi ministra da
economia Zlia Cardoso, foi um perodo herico, marcado por tentativas
radicais mas fracassadas de estabilizao, e por profundas reformas econ-
micas, particularmente um substancial ajuste fiscal, a liberalizao comercial,
a reestruturao das empresas e o conseqente aumento da produtividade, e
a privatizao das grandes empresas siderrgicas. A segunda parte de seu Go-
verno, com o ministro Marclio Marques Moreira, foi a volta ortodoxia e
ao gradualismo: com a brutal elevao da taxa de juros, a recesso aprofun-
dou-se, sem que a inflao fosse controlada.
Aps as denncias de corrupo que levaram ao impeachment de Collor,
Itamar Franco assumiu o Governo no final de 1992. A inflao continuava a
parecer invencvel. Em menos de um ano, quatro ministros da Fazenda se
sucederam. Nenhum deles foi capaz de formular e implementar um plano
consistente de combate inflao. Finalmente, em junho de 1993, quando a
inflao j havia superado a marca de 20% ao ms, Fernando Henrique Car-
doso assumiu o Ministrio da Fazenda, renasceram as esperanas de estabili-
zao da economia, graas ao amplo apoio poltico que essa nomeao recebeu
e tambm ao excelente grupo de economistas que se formou em sua equipe.
O primeiro resultado positivo da presena da nova equipe econmica
foi o desaparecimento de uma reao violenta e irracional contra a implan-
tao de um choque na economia. Estava claro que a nova equipe econmi-
ca iria, em pouco tempo, adotar uma terapia de choque contra a inflao,
que provavelmente combinaria medidas ortodoxas e heterodoxas, na medi-
da em que esta no tinha dvida de que o principal componente da alta e
persistente inflao brasileira era inercial.
A explicao convencional, que relaciona a inflao com o dficit p-
blico, embora vlida em situaes normais, provou ser equivocada no caso
do Brasil. O dficit pblico tinha sido zerado em 1990 e 1991, mas a infla-
o permanecera alta. A outra explicao convencional, que atribui a infla-
o a um crescimento da oferta de moeda, tambm provou estar totalmente
equivocada. At mesmo economistas monetaristas, que durante anos haviam
sido incapazes de compreender a natureza inercial da inflao brasileira, re-
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 195
conheciam agora o carter passivo ou endgeno da oferta de moeda quando
a inflao alta e inercial.
A tese de que uma inflao alta e inercial deveria ser controlada por meio
de um choque e no gradualmente, e que esse choque fosse constitudo de
uma reforma monetria, antecedido ou acompanhado por um mecanismo que
neutralizasse a inrcia inflacionria coordenando as expectativas dos agen-
tes econmicos, foi formulada por economistas brasileiros no comeo dos anos
80, quando desenvolveram a teoria da inflao inercial (no Rio de Janeiro:
Andr Lara Resende, Edmar Bacha, Eduardo Modiano, Francisco Lopes,
Mrio Henrique Simonsen, Prsio Arida; em So Paulo: Adroaldo Moura da
Silva, Yoshiaki Nakano e o autor deste livro).1 Ficou ento claro que, diante
de uma inflao alta e inercial, era necessrio neutralizar o desequilbrio dos
preos relativos causados pelos aumentos defasados de preos. Para isso,
apenas duas estratgias podiam ser efetivas: ou um congelamento de preos
acompanhado por tabelas de converso, ou a adoo de um indexador di-
rio que acompanhasse as variaes da taxa de cmbio.
A primeira tentativa de aplicar essas idias foi o Plano Cruzado, em 1986.
Alguns dos economistas, que haviam participado ativamente da formulao
da teoria da inflao inercial e do Plano Cruzado, estavam de volta ao Go-
verno (Prsio Arida, Andr Lara Rezende, Edmar Bacha). O Plano Real, que
estabilizou os preos a partir de primeiro de julho de 1994, foi idealizado por
eles, sob o comando de Fernando Henrique Cardoso. Como as tentativas de
estabilizao por meio do congelamento haviam fracassado, a estratgia al-
ternativa de usar um ndice-moeda para realizar a converso para os novos
preos equilibrados em termos relativos foi adotada. Era uma estratgia que
fora desenvolvida por Andr e Prsio em 1983-1984.2
Estava claro para os economistas neo-estruturalistas que desenvolveram
a teoria da inflao inercial que a estabilizao desse tipo de inflao alta e
persistente deveria contemplar quatro fases: (1) preparao, na qual essen-
cial a realizao do ajuste fiscal; (2) coordenao de expectativas, por meio
da correo dos preos relativas de forma a neutralizar a inrcia inflacion-
ria; (3) choque, normalmente acompanhado de uma reforma monetria e a
adoo de uma ncora nominal (a taxa de cmbio), que reduza dramatica-
mente a inflao; e (4) consolidao, a realizao de ajustes fiscais adicionais
e a manuteno de uma poltica monetria apertada.
As fases 2 e 3 podem ser invertidas dependendo da estratgia adotada.
Em algumas tentativas anteriores de estabilizao, como o Plano Cruzado,
Plano Bresser e Plano Vero, o choque de preos foi realizado antes da cor-
reo dos preos relativos, que foi realizada pelas tabelas de converso, as
196 Luiz Carlos Bresser Pereira
chamadas tablitas. Estratgias seguindo esse modelo foram adotadas com
sucesso em Israel (1985) e Mxico (1987). No Brasil, elas fracassaram. As-
sim, em 1994, a deciso foi adotar uma segunda alternativa mais complexa:
depois do ajuste fiscal, primeiro foi neutralizada a inflao inercial pelo me-
canismo da URV (Unidade Real de Valor) um ndice-moeda atrelado va-
riao do dlar, para o qual todos os principais preos da economia foram
convertidos entre abril e junho de 1994. Finalmente foi aplicado o choque,
ou seja, a reforma monetria realizada em primeiro de julho de 1994, acom-
panhada de uma ncora cambial. Nesse dia, a inflao foi praticamente zerada.
A idia extremamente engenhosa embutida no Plano Real foi a da coe-
xistncia de duas moedas ao mesmo tempo: a velha moeda, na qual a infla-
o seria muito alta, e a nova, uma moeda indexada, que existiu durante trs
meses. Esse sistema dual permitiu que os agentes econmicos convertessem
seus contratos, de uma forma voluntria, da velha moeda, em que estava in-
corporada uma taxa de inflao esperada, para a nova moeda, que, por es-
tar atrelada ao dlar, apresentaria uma inflao muito baixa e pressupunha
preos relativos equilibrados. No segundo momento, quando a reforma mo-
netria eliminou a velha moeda, desapareceram as presses inflacionrias de-
correntes do desequilbrio dos preos relativos derivado do ajuste no sin-
cronizado dos preos. Os preos relativos na nova moeda estavam automa-
ticamente equilibrados, no sendo necessrio utilizar as tabelas de conver-
so para eliminar dos contratos a expectativa de inflao.
No comeo dos anos 90, quando a idia de um novo choque estava
desacreditada, Andr Lara Rezende retomou a idia da convivncia de duas
moedas e sugeriu um passo adicional: que a nova moeda, plenamente con-
versvel ao dlar, fosse emitida por um Currency Board, ou seja, um rgo
autnomo do Governo cuja nica funo seria cuidar da emisso da nova
moeda que seria totalmente lastreada pelas reservas internacionais do pas.3
Entretanto, quando a equipe econmica de Fernando Henrique Cardoso foi
composta e comeou a trabalhar em um plano de estabilizao, essa alterna-
tiva foi considerada muito radical. Deu-se preferncia uma proposta mais
simples, elaborada principalmente por Prsio Arida. Em vez de emitir-se uma
segunda moeda, o Governo criaria um ndice-moeda cujo valor seria cor-
rigido diariamente em relao moeda antiga refletindo a inflao presente
ao mesmo tempo em que estaria atrelado variao da taxa de cmbio. No
seria uma moeda plena porque no teria poder liberatrio, ou seja, os paga-
mentos continuariam a ser feitos por meio da antiga moeda, o cruzeiro real.
Mas, sendo um ndice-moeda, os contratos, incluindo as venda a prazo e
os salrios, poderiam ser voluntariamente convertidos para ele, evitando a
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 197
necessidade de uma tablita no dia da reforma monetria, quando a velha
moeda seria extinta.
O Plano Real foi dividido em trs fases. Na primeira fase, entre dezem-
bro de 1993 e fevereiro de 1994, um ajuste fiscal provisrio, baseado em cortes
de gastos pblicos e aumento de impostos, assegurou o equilbrio oramen-
trio pelo menos para 1994. O Congresso, aps alguma oposio inicial,
aprovou o ajuste fiscal provisrio, que a equipe econmica definiu como um
pr-requisito para o lanamento da segunda fase do programa.
Na segunda parte do plano, entre maro e junho, houve a neutralizao
da inrcia inflacionria pela utilizao da URV, um ndice-moeda que refle-
tia diariamente a inflao corrente. Esse ndice seguia muito de perto a variao
da taxa de cmbio. Ele foi usado para ajustar todos os principais preos da
economia: salrios, preos pblicos e privados, aluguis, contratos de longo
prazo e aplicaes financeiras. medida que os contratos foram converti-
dos para URV, os preos em URV permaneciam estveis, enquanto os pre-
os em cruzeiro mudavam todos os dias. Como previsto, o mercado assegu-
rou que a converso dos preos de cruzeiro real para URV fosse basicamen-
te (no totalmente) realizada segundo o valor real mdio dos contratos, e no
conforme seus valores nominais de pico.
A terceira fase do plano foi o choque a reforma monetria acompa-
nhada de uma ncora cambial que transformou a URV em uma nova
moeda, o Real, em substituio ao extinto Cruzeiro Real. A taxa de inflao
foi imediatamente reduzida a quase zero, sem qualquer congelamento.
Alm da neutralizao da inrcia por meio do mecanismo da URV, a
ncora cambial teve um papel decisivo. Os agentes econmicos esperavam
que a nova moeda ficasse atrelada ao dlar em uma relao de um para um.
Na verdade, o Real foi imediatamente valorizado em cerca de 15%, repre-
sentando, assim, uma super ncora cambial. S nos primeiros meses de 1995
que essa ncora foi afrouxada, iniciando-se o deslizamento da taxa de cm-
bio nominal medida da inflao.4
Conforme podemos ver pelo Quadro XXIII, 12 meses aps a estabili-
zao, a inflao continua sob controle. A taxa mensal de inflao caiu para
prximo de zero em julho. Estabilizou-se em torno de 2% nos meses seguin-
tes e mais recentemente tende para 1% ao ms. A taxa de cmbio valorizou-
se substancialmente em relao ao perodo imediatamente anterior intro-
duo do Real, alcanando em abril uma valorizao de 25%. A partir desse
ms, entretanto, o processo valorizador foi paralisado e a taxa de cmbio
sofreu uma pequena desvalorizao, estabilizando-se em um nvel ainda va-
lorizado, 20% em relao ao perodo imediatamente anterior ao plano.
198 Luiz Carlos Bresser Pereira
Quadro XXIII: Principais Variveis Macroeconmicas
Aps o Plano Real
Inflao Taxa de Taxa de Taxa de S. Balana
(IGP-DI) Juros Real(a) Cmbio Cmbio Comercial
Nominal Real(b) (US$ milhes)
Abril 1994 42,46 2,8 98,50 1.477
Maio 40,95 5,0 100,98 1.430
Junho 46,58 2,8 100,50 1.230
Julho 24,71 1,3 0,933 90,20 1.203
Agosto 3,34 0,8 0,899 84,03 1.522
Setembro 1,55 2,2 0,865 79,42 1.433
Outubro 2,55 1,0 0,846 76,05 644
Novembro 2,47 1,6 0,842 74,99 -492
Dezembro 0,57 3,2 0,850 76,13 -897
Janeiro 1995 1,36 2,0 0,847 75,81 -304
Fevereiro 1,15 2,1 0,841 75,06 -1.095
Maro 1,81 2,4 0,889 78,39 -936
Abril 2,30 1,9 0,908 79,18 -467
Maio 0,40 3,8 0,897 79,98 -690
Junho 2,62 1,6 0,914 80,31 -775
Julho 2,24 2,2 0,929 80,21 3
(a) Taxa do OVER-SELIC deflacionado pelo IGP-DI.
(b) Deflacionado pelo IPA-OG, 1992=100. Fonte: Boletim de Conjuntura, IEI-UFRJ.
Fonte: Boletim do Banco Central do Brasil, julho 1995.
Como a Argentina aps o Plano Cavallo, o principal problema enfren-
tado pelo Plano Real em seu primeiro ano de existncia foi a valorizao
cambial. A excessiva valorizao do Real frente ao dlar, juntamente com o
aumento explosivo da demanda interna aps a estabilizao, fez com que a
balana comercial se tornasse deficitria em pouco tempo. A fuga de capi-
tais ocorrida no comeo de 1995 em conseqncia da crise mexicana somou-
se aos freqentes dficits comerciais e criou uma expectativa de que as reser-
vas cambiais poderiam se reduzir rapidamente e atingir um nvel propcio
ocorrncia de uma sria crise de balano de pagamentos, o que seria trgico
para a economia do pas.
A partir de abril de 1995, foram tomadas uma srie de medidas que afas-
taram o perigo de uma crise cambial iminente. Fixou-se uma mini-banda
cambial, periodicamente corrigida pelo Banco Central, de forma a permitir
inicialmente uma pequena desvalorizao real do Real, e, em seguida, o desli-
zamento da taxa de cmbio nominal de forma a manter a taxa de cmbio real
constante. Restringiu-se a importao de alguns produtos, notadamente a de
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 199
automveis. E, finalmente, mantiveram-se as taxas de juros reais em nveis
extremamente elevados, por meio de uma rgida poltica monetria.
As taxas de juros reais mantidas em torno de 30% ao ano foram o prin-
cipal fator responsvel pelo afastamento do risco de uma crise cambial. Os
juros reais muito elevados, muito maiores que os existentes nos pases desen-
volvidos, por um lado, atraram capitais externos e, por outro lado, provo-
caram um forte desaquecimento da economia, reduzindo as importaes. O
segundo semestre de 1995 foi claramente um semestre recessivo. Com isso,
a balana comercial voltou a equilibrar-se. Este fato, mais a retomada dos
fluxos financeiros de curto prazo para o pas, permitiram que as reservas
cambiais brasileiras voltassem a aumentar e atingissem, no final de 1995, o
montante recorde de quase 50 bilhes de dlares.
Entretanto, a manuteno de taxas de juros to elevadas trouxe conse-
qncias adversas para a economia. Em primeiro lugar, aumentou o nvel de
inadimplncia de pessoas e de empresas e colocou o pas praticamente em
recesso; em segundo lugar, elevou os gastos pblicos com pagamento de juros,
constituindo-se em um importante fator de elevao do dficit pblico em
1995, que, depois de ter sido quase zerado entre 1990 e 1994, voltou ao n-
vel de 4% do PIB. O outro fator que determinou o ressurgimento do dficit
pblico foi o desequilbrio financeiro dos estados e municpios, que no sou-
beram administrar com parcimnia o aumento de receita que obtiveram aps
a Constituio de 1988.
Concluindo, o Plano Real ainda no est totalmente consolidado, mas
no h dvidas de seu enorme sucesso. Foi um sucesso intelectual para seus
autores, que foram capazes de desenvolver uma estratgia heterodoxa para
controlar a inrcia dos preos sem recorrer a um congelamento de preos. Foi
um sucesso poltico para Fernando Henrique Cardoso, cuja eleio para a
presidncia deveu-se basicamente ao plano. O Plano Real foi uma reforma
estritamente direcionada a atender os interesses brasileiros. Ele foi heterodoxo
porque adotou a URV, mas foi tambm ortodoxo porque nunca negligenciou
a importncia do ajuste fiscal. Desde o choque, o Plano Real sustentado por
uma poltica monetria extremamente apertada.
cedo, entretanto, para se afirmar que o Plano Real esteja consolida-
do. O pas goza de grande confiana no exterior. Os empresrios locais es-
to ansiosos por investir. As taxas de juros elevadssimas compensando uma
taxa de cmbio claramente valorizada so, entretanto, o principal obstculo
ao desenvolvimento brasileiro. Esta taxa de cmbio leva ao desequilbrio
comercial no momento em que a economia voltar a crescer. Por isso, ne-
cessrio manter a economia recessiva por meio de uma taxa de cmbio incri-
200 Luiz Carlos Bresser Pereira
velmente alta. No passado, quando o Brasil tinha uma economia primrio-
exportadora, o cmbio valorizado acompanhado de tarifas elevadas sobre os
produtos importados era uma estratgia de taxar a exportao de produtos
primrios, j que os governantes no tinham condies polticas para taxar
esses produtos diretamente. Por isso, os exportadores de caf, principalmen-
te, falavam em confisco cambial. Hoje o Brasil um pas exportador de
manufaturados. Uma taxa de cmbio valorizada mortal para a economia
brasileira.
Por que, ento, no se desvaloriza o cmbio? Basicamente por receio de
que a desvalorizao provoque um choque inflacionrio, que, no limite, po-
der neutralizar a desvalorizao real. Especialmente quando a economia est
superaquecida, como estava no primeiro ano aps a introduo do Plano Real,
a tentativa de desvalorizao real era perigosa. A recesso afinal alcanada
no segundo semestre de 1995 no foi aproveitada para se proceder a desva-
lorizao. As autoridades econmicas esto preferindo conviver com uma certa
recesso e com altas taxas de juros para no incorrer no risco de uma reto-
mada da inflao. Convm lembrar, porm, que realizar poltica econmica
em pases instveis, que ainda no saram definitivamente da crise, implica
em correr riscos. Riscos que o presidente Fernando Henrique Cardoso teve a
coragem de enfrentar quando lanou a URV e em seguida o Real. Riscos que
devem ser calculados e medidos, mas que no podem ser evitados, j que a
retomada do desenvolvimento uma prioridade para a sociedade brasileira.
NOTAS
1 Ver captulo 22.
2 Ver Lara Resende e Arida (1984), Lara Resende (1984), Arida (1983).
3 Ver Lara Resende (1992).
4 Sobre o Plano Real, ver Gustavo Franco (1995), Jeffrey Sachs e lvaro Zini (1995),
Gesner de Oliveira (1996), Joo Paulo Reis Velloso (org.) (1994, 1996), Bresser Pereira
(1996a), Batista Jr. (1996).
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 201
202 Luiz Carlos Bresser Pereira
Captulo 32
MERCOSUL E INTEGRAO AMERICANA
A abertura comercial esboada em 1987 e realizada efetivamente entre
1990 e 1994 teve conseqncias extraordinariamente benficas para a eco-
nomia brasileira, principalmente na medida em que obrigou a indstria bra-
sileira a aumentar de forma dramtica sua produtividade. Esta, que na se-
gunda metade dos anos 80 permaneceu estagnada, aumentou em 50 % na
primeira metade dos anos 90, em funo, principalmente, do desafio repre-
sentado pela abertura.
Antecipando-se abertura, entretanto, um outro fenmeno fundamen-
tal ocorria no comrcio internacional do Brasil: a integrao econmica, a
partir de 1986, com a Argentina, que, em 1991, com o Tratado de Assun-
o, transformou-se no Mercosul. Inicialmente uma zona de livre comrcio,
o Mercosul, agora tambm incluindo o Uruguai e o Paraguai, assumiu, a partir
e 1994, o carter de uma unio aduaneira, com uma tarifa externa comum.
Conforme observou Honrio Kume (1996: 157), para se alcanar esse resul-
tado, em um perodo em que os dois pases experimentavam graves dese-
quilbrios macroeconmicos, foi fundamental a adoo de um esquema de
desgravao linear e automtica das tarifas aduaneiras entre os quatro pases.1
O xito deste empreendimento de integrao regional foi extraordin-
rio. As exportaes brasileiras para o Mercosul, que em 1990 limitavam-se
a US$ 1,3 bilho, subiram para US$ 5,9 bilhes em 1994. O comrcio intra-
Mercosul, que era de US 7,8 bilhes em 1990 passou para US$ 22,0 bilhes
em 1994. Os empresrios brasileiros e argentinos, que inicialmente viam a
integrao de forma desconfiada, passaram a apoi-la entusiasticamente. E
o Brasil, a partir desse sucesso, passou a planejar a formao de uma zona
de livre comrcio da Amrica do Sul, ao mesmo tempo que resistia s pres-
ses crescentes dos Estados Unidos de se integrar em uma zona de livre co-
mrcio americana.
A idia de uma integrao econmica das Amricas foi lanada pelo
Presidente Bush ainda em 1990. Esta idia, que foi recebida com descrena
por muitos analistas no Brasil, foi aos poucos ganhando corpo, medida que
o novo governo democrata do Presidente Clinton a adotou. Em 1994, em
Miami, foi assinado um tratado prevendo a instalao da ALCA rea de
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 203
Livre Comrcio Americana a partir de 2006. Os europeus, por sua vez,
diante do xito do Mercosul, tomaram uma srie de iniciativas de aproxima-
o, embora ficasse claro que no esto dispostos a abrir suas economia na
rea que nos interessa mais: a agricultura.
A reposta do Brasil a essas propostas, embora tenha assinado o Acordo
de Miami, tem sido de resistncia. O argumento oficial de que primeiro
devemos fortalecer o Mercosul e depois pensar em uma integrao regional
maior. Mais explicitamente o governo brasileiro afirma que a indstria bra-
sileira no est ainda preparada para uma abertura completa com em rela-
o a um pas muito mais desenvolvido como so os Estados Unidos.
difcil avaliar o acerto ou equvoco desta posio do Brasil. Na segunda
metade dos anos 80 era comum a afirmao de que a indstria brasileira no
suportaria um processo de abertura comercial. A, abertura, no entanto, ocor-
reu, e os resultados foram extremamente favorveis economia brasileira.
Por outro lado, preciso reconhecer que o comrcio e os investimentos in-
ternacionais esto se organizando cada vez mais em termos de macro-blocos
regionais. Conseqentemente, tentar integrar-se ALCA e Unio Europia,
ou a ambos, uma condio para o pas no ficar excludo. O Mxico, ao se
integrar na NAFTA, transformou-se em parceiro preferencial dos Estados
Unidos, com prejuzo do Brasil. A integrao na ALCA, entretanto, dever
ser realizada nos nossos termos, comeando pela eliminao de barreiras no-
tarifrias, e s depois caminhando para a reduo gradual mas linear das
barreiras tarifrias. Isto poder ser feito ao mesmo tempo em que a integra-
o econmica com a Amrica do Sul, particularmente com o Mercosul, con-
tinua sendo prioritria.
Desenvolver uma relao mais prxima com os Estados Unidos e a Eu-
ropa uma poltica defensiva que no tem nenhuma relao com o velho tipo
de dependncia primrio-exportadora. No compatvel com o velho nacio-
nalismo, que se alimenta de uma atitude anti-extrangeiros, onde essencial
a convico de que o pas no tem condies de negociar com os pases de-
senvolvidos. Parte da suposio de que o Brasil j tem condies para nego-
ciar seus interesses com os pases desenvolvidos.2 O novo nacionalismo fun-
damenta-se no conceito de interesse nacional, que ter de ser protegido e
negociado caso a caso. Todos os pases so nacionalistas no sentido de que
defendem seu interesse nacional, mas o novo nacionalismo muito diferente
do velho nacionalismo, que partia da suposio que os pases latino-ameri-
canos so fracos e indefesos, cercados por poderes imperialistas. Por lhes faltar
capacidade para negociar seus interesses no tinham alternativa seno se
encostar-se em seu canto, proteger-se, e assim impedir a influncia estrangeira.
204 Luiz Carlos Bresser Pereira
Isto j no mais verdade para o Brasil, que tem perfeitas condies de ne-
gociar com os Estados Unidos.
preciso observar, entretanto, que, apesar do interesse do governo ame-
ricano em uma zona de livre comrcio com a Amrica Latina, esta tese est
longe de ter alcanado consenso nos Estados Unidos. Os sindicatos de tra-
balhadores, principalmente, se opem firmemente a um acordo dessa natu-
reza, repetindo a posio que adotaram em relao NAFTA. Seu entendi-
mento o de que os trabalhadores menos qualificados perdero seus empre-
gos e tero seus salrios reduzidos dada a concorrncia da mo-de-obra mais
barata dos pases da Amrica Latina. Ora, ainda que essa posio da esquer-
da nos Estados Unidos possa ser discutida, ela deveria ser considerada pelos
opositores da ALCA no Brasil.
Existem duas opes para as relaes econmica internacionais do Brasil:
a opo multilateral no quadro do Mercosul e a integrao em um bloco
regional maior a partir do Mercosul. Em princpio a primeira opo, que tem
sido sistematicamente defendida pelo Itamaraty, a mais aconselhvel por-
que reflete o carter diversificado das exportaes brasileiras. A opo mul-
tilateral seria decorrncia de o Brasil ser um global trader. Entretanto, esta
opo s seria vivel se o restante do mundo tambm estivesse efetivamente
engajado no multilateralismo; se o comrcio administrado e a formao de
blocos comerciais no fossem caractersticas bsicas do comrcio internacional
no capitalismo contemporneo. A Europa liderou esse movimento de forma-
o de blocos. Os Estados Unidos, o Canad e o Mxico a seguiram com
acordo do NAFTA. Dessa forma, a idia de que o Brasil seja um small glo-
bal trader, conforme voz dominante no Ministrio das Relaes Interna-
cionais do Brasil, pode ser uma boa descrio do que o Brasil representa em
termos de comrcio internacional, mas no implica necessariamente em uma
poltica que procure perpetuar a posio do Brasil isolado dos grandes blo-
cos. Os blocos comerciais so instituies discriminatrias. Liberalizam o
comrcio dentro da regio, mas tambm estabelecem preferncias entre seus
participantes, ao mesmo tempo em que discriminam os intrusos. So freqen-
temente trade-diverting ao invs de trade-creating. Justificam-se quando a
criao de um bloco tem poucos efeitos trade-diverting e, em compensao,
constituem-se em um caminho para a liberalizao comercial na medida em
que impem essa liberalizao no seio do bloco. A participao em blocos
comerciais no o caso de racionalidade econmica pura mas uma questo
pragmtica de autoproteo.3
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 205
NOTAS
1 Na verdade, o que se alcanou foi uma unio aduaneira incompleta, j que diversas
excees ainda foram mantidas. Para a histria de como surgiu a idia da desgravao auto-
mtica e linear das tarifas, ver o relato de minha experincia no Ministrio da Fazenda em
1987 (Bresser Pereira, 1992).
2 Sobre o carter anti do nacionalismo, ver Lima Sobrinho (1963). Historiador e
jornalista, Barbosa Lima Sobrinho at hoje, com mais de cem anos, o mais notvel repre-
sentante do nacionalismo no Brasil.
3 Ver Bresser Pereira e Thorstensen (1992) e Thorstensen, Nakano, Faria Lima e Sato
(1994).
206 Luiz Carlos Bresser Pereira
Captulo 33
RUMO AO FUTURO
A economia brasileira, nos ltimos cinqenta anos, transformou-se em
uma economia subdesenvolvida, porque marcada por grandes desigualdades,
mas industrializada e moderna. A burguesia a classe dominante, mas a classe
mdia tecnoburocrtica, presente tanto no setor pblico quanto no privado,
tem uma influncia crescente. A ideologia dominante a do capitalismo com-
petitivo, liberal, mas a sociedade ainda mantm traos autoritrios de car-
ter patrimonialista e corporativista e a economia monopolista.
essencial, entretanto, compreender que, apesar desses desequilbrios
e contradies, o Brasil j no mais um imprio semicolonial, ou uma simples
economia perifrica. A economia brasileira hoje poderosa, tecnologicamente
sofisticada, industrialmente integrada. O mercado interno j enorme.
A sociedade brasileira um todo complexo e multiforme, que nada tem
a ver com o mundo dos senhores e escravos do sculo passado, ou com a
estrutura social baseada em uma elite latifundiria e numa massa de traba-
lhadores rurais (intermediada por uma pequena classe mdia tradicional e
parasitria) da primeira repblica. O Brasil no mais um misto de socieda-
de capitalista mercantil e sociedade pr-capitalista, na qual a acumulao
primitiva (e no a mais-valia) a forma por excelncia de apropriao do
excedente, e o patrimonialismo clientelista, a forma de dominao poltica.
No mais uma sociedade poltica intrinsecamente autoritria, compatvel
com esse tipo de apropriao de excedente, embora conserve fortes traos
autoritrios.
A burguesia no Brasil, hoje, uma classe poderosa. A acumulao de
capital ocorrida neste pas, embora tenha permitido a formao de grandes
empresas multinacionais e de um grande aparelho produtivo estatal, garan-
tiu tambm a formao no apenas de uma grande burguesia monopolista
local, industrial e financeira, mas tambm de uma mdia e pequena burgue-
sia formada de empresrios industriais, agrcolas, comerciais e de servios, e
de um nmero j considervel, embora ainda sem peso econmico, de rentistas
(que vivem de juros e aluguis).
Esta mdia e pequena burguesia soma-se tecnoburocracia, ou seja, aos
funcionrios e gerentes pblicos e privados, para formar uma imensa cama-
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 207
da ou classe mdia, extremamente diversificada e contraditria, mas que
possui alguns pontos em comum: principalmente padres culturais e de con-
sumo prximos aos vigentes nos pases centrais.
A existncia dessa grande camada mdia, que remunerada por ordena-
dos muito superiores aos salrios recebidos pelos trabalhadores, somada ao
fato de que a extrao do excedente j hoje realizada no Brasil adicionalmente
por meio do lucro e dos juros resultam em uma grande aliana entre a tecno-
burocracia e a burguesia para o exerccio da hegemonia poltica e ideolgica.
A imensa acumulao de capital ocorrida neste pas nos ltimos sessen-
ta anos teve como resultado a consolidao do capitalismo. O Brasil hoje
uma formao social em que o modo especificamente capitalista de produ-
o (baseado na acumulao com progresso tcnico e extrao de mais-valia
relativa) claramente dominante. A tecnoburocracia apenas uma classe
emergente. O latifndio mercantil, uma classe em desaparecimento.
Esta economia capitalista monopolista tecnoburocrtica est hoje em
crise, mas trata-se de uma crise cclica, que atingiu toda a economia mundial.
Como todas as crises, esta tambm dever ser superada. Entraremos ento
em um novo ciclo de acumulao e expanso.
certo que a crise cclica atual tem outro componente: o padro de
acumulao que chamamos de modelo de subdesenvolvimento industrializado,
baseado na concentrao de renda e na produo de bens durveis de consu-
mo, esgotou-se. A economia ter, portanto, no apenas de superar a crise
cclica, mas tambm a crise do prprio padro de acumulao.
Na verdade, os elementos j existentes na economia brasileira permitem-
nos prever que, quando sairmos desta crise, estar sendo definido um novo
modelo de desenvolvimento que j poderemos chamar de modelo de sub-
desenvolvimento industrializado maduro. Esse novo padro de acumulao
dever basear-se, de um lado, em uma crescente difuso de bens de consumo
durveis, a partir do crescimento dos salrios s mesmas taxas do aumento
de produtividade, e, de outro lado, na exportao de produtos manufatura-
dos principalmente trabalho-intensivo, mas tecnologicamente sofisticados, e
na exportao de bens agro-industriais onde nossas vantagens comparativas
so mais claras.
Entre 1930 e 1960, tivemos o modelo de substituio de importaes,
a revoluo industrial brasileira. Nesse perodo, as exportaes e importa-
es estagnaram-se enquanto a economia se voltava para o mercado interno
e industrializava-se aceleradamente ao mesmo tempo que o coeficiente de im-
portaes (importaes sobre o PIB) declinava dramaticamente. Estava em
torno de 20% em 1930 e baixou para cerca de 7% em 1960.
208 Luiz Carlos Bresser Pereira
Entre 1966 e 1967 o pas vive um perodo de crise econmica provoca-
da pelo esgotamento do modelo de substituio de importaes e pela crise
fiscal provocada pelo excesso de gastos na segunda metade dos anos 50. O
golpe militar em 1964, que manteria o pas sob controle militar por quase
vinte anos, foi em grande parte conseqncia dessa crise.
Depois de um bem sucedido, embora doloroso, processo de ajustamen-
to entre 1964 e 1967, a economia brasileira volta a crescer, durante alguns
anos em ritmo de milagre. A partir de 1973, com o primeiro choque do pe-
trleo e a desacelerao da economia mundial, a economia brasileira volta a
enfrentar dificuldades. No obstante, em 1974 lanamos o II Plano Nacio-
nal de Desenvolvimento, atravs do qual se pretendia completar um proces-
so de substituio de importaes que, na verdade, j estava esgotado h
muito. E iniciamos um processo de crescente endividamento externo. Essa
poltica irresponsvel chega ao auge em 1979-1980, quando, apesar do se-
gundo choque do petrleo e da brutal elevao das taxas de juros interna-
cionais, o Brasil decide de forma populista acelerar seu crescimento.
A Grande Crise e o correspondente ajuste comearo em 1981, quando
as taxas de inflao comeam a sair fora de controle, ao mesmo tempo que a
economia entra em recesso. Entretanto, com a democratizao do pas, novo
episdio populista tem lugar no Governo Sarney, entre 1985 e 1986, que
culminar com o fracasso do Plano Cruzado e o desencadear de uma pro-
funda crise. Em 1987 tenta-se retomar o ajuste iniciado em 1981, mas as foras
populistas so mais fortes. O Brasil democrtico vivia um perodo populista
de volta aos anos 50 que o impedia de realizar o ajuste e as reformas estrutu-
rais necessrias. A dcada termina com um episdio hiperinflacionrio no
incio de 1990.
A partir desse ano, no Governo Collor, comea novamente o ajuste fis-
cal, ao mesmo tempo que as reformas orientadas para o mercado passam a
dominar a agenda do pas. O Brasil, afinal, admitia a superao do modelo
estatista e protecionista de substituio de importaes, e passava a definir
um novo modelo de desenvolvimento baseado no aumento de capacidade de
competio internacional. Privatizao e abertura comercial so ento as duas
principais reformas estruturais que apontam nessa direo.
Entretanto, apesar do enorme ajuste fiscal, a inflao, de carter inercial,
dados os preos formal e informalmente indexados, no cedia. Somente em
1994, graas ao Plano Real, em que a teoria da inflao inercial aplicada
para neutralizar a inrcia, o pas logra controlar os preos. O ajuste fiscal,
por sua vez, que no Governo Itamar Franco, entre 1993 e 1994, fora relaxa-
do, elevando o dficit pblico de zero a 5% do PIB em 1995, retomado no
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 209
Governo Fernando Henrique Cardoso, ao mesmo tempo que a reforma ad-
ministrativa e a da previdncia so iniciadas, e a privatizao, acelerada, graas
eliminao dos dispositivos constitucionais que a impediam.
Enquanto o modelo de substituio de importaes, entre 1930 e 1960,
financiava a acumulao principalmente por meio da transferncia de renda
do setor exportador (caf em particular) para o industrial, o modelo de sub-
desenvolvimento industrializado (na verdade, uma extenso artificial do mo-
delo de substituio de importaes), especialmente a partir de 1964, vai
apoiar-se na transferncia de renda dos trabalhadores para os capitalistas e
para as camadas mdias tecnoburocrticas, por meio da poltica deliberada
de reduo dos salrios, enquanto a produtividade crescia aceleradamente.
Basear-se- tambm na energia barata do petrleo e das hidreltricas, e fi-
nalmente no endividamento externo sem limites como estratgia deliberada
de crescimento. Os resultados so um rpido crescimento, mas tambm a crise:
primeiro a crise do balano de pagamentos, e, em seguida, a alta inflao. A
crise do modelo de subdesenvolvimento industrializado, no final dos anos 70,
levar o pas a uma crise, e busca de um novo padro de financiamento dos
investimentos, que ter agora que ser principalmente privado ao invs de
estatal, e que dever contar com uma participao maior, embora sempre
secundria, do capital multinacional.
O Brasil, no final dos anos 90, continua um pas subdesenvolvido, mas
industrializado e cada vez mais moderno. Mais de 50% de nossas exporta-
es j so de produtos manufaturados, e quase dois teros de produtos in-
dustrializados. Definitivamente, j no somos um pas primrio-exportador.
Para esse grande parque industrial, entretanto, a condio de sobrevi-
vncia transformou-se na exportao. O mercado interno certamente conti-
nuar a crescer, especialmente por meio da difuso de bens de consumo du-
rveis para as camadas mais pobres da populao, mas a condio para que
esse mercado interno cresa e para que a indstria continue a se desenvolver
est no aumento concomitante das exportaes. Por isso, alguns setores in-
dustriais brasileiros devero cada vez mais ter capacidade de competir em
condies de vantagem com os demais pases. Nossa grande desvantagem
a incapacidade relativa que ainda temos de gerar tecnologia de ponta. Mas
temos algumas vantagens importantes: (1) temos capacidade de absorver tec-
nologia com grande rapidez graas s empresas e aos engenheiros de que
dispomos; (2) temos ainda mo-de-obra barata; e (3) temos recursos natu-
rais, exceto petrleo, abundantes.
Para alguns setores industriais tecnologicamente simples e trabalho-in-
tensivos, nossas vantagens so bvias. o caso da indstria txtil, de con-
210 Luiz Carlos Bresser Pereira
feces e de calados, por exemplo. Mas so esses setores que geralmente so
mais protegidos tarifariamente nos demais pases. Alm disso, basear a pol-
tica de exportao do Brasil nessas indstrias apresenta as mesmas limitaes
de uma poltica exportadora baseada na agricultura: (1) esses setores valori-
zam pouco a mo-de-obra nacional, mantendo-nos atrelados nova diviso
internacional do trabalho; e (2) a concorrncia dos demais pases subdesen-
volvidos em estgio inferior de desenvolvimento (inclusive toda a Amrica
Latina) dificulta o xito das nossas exportaes.
Por isso, nos quadros do capitalismo industrial maduro (ainda que sub-
desenvolvido porque desigual), as nossas exportaes devero concentrar-se
nas indstrias tecnologicamente sofisticadas, mas trabalho-intensivas. o caso
da indstria de bens de capital, da indstria eletrnica, da indstria aeronu-
tica, da indstria de construes de barragens e da indstria automobilsti-
ca. Como esses setores industriais demonstraram, falsa a correlao direta
entre indstrias tecnologicamente sofisticadas (que valorizam nossa mo-de-
obra) e tecnologia capital-intensiva. nesses setores que nossos custos indus-
triais (e, portanto, nossa eficincia) devero ser fortemente competitivos.
Depois da Grande Crise dos anos 80, que foi essencialmente uma crise
fiscal, as possibilidades de uma poltica industrial efetiva foram reduzidas.
Mas ainda esto presentes na economia brasileira, principalmente quando se
trata de estabelecer um sistema de financiamento a longo prazo para a acu-
mulao. Este sistema est afinal sendo implantado pelo BNDES na segunda
metade dos anos 90. o que Igncio Rangel vinha dizendo h muito tempo.
A nova poltica financeira ter de passar, de um lado, por um razovel
reequilbrio das finanas do Estado, de forma que ele deixe de competir com
as indstrias pelos recursos dos capitalistas rentistas; de outro lado, pela cria-
o de novos mecanismos de poupana forada administrados via bancos de
desenvolvimento do Estado; e, de outro lado ainda, por novos mecanismos
de captao de recursos pelo setor privado, provavelmente na linha das de-
bntures que esto recentemente tendo grande expanso.
O importante a assinalar que a via da competio em p de relativa
igualdade com as demais grandes potncias industriais, alm de ser o nico
caminho que resta hoje para o Brasil, um caminho vivel, cujas pr-condi-
es j esto presentes na economia brasileira. No modelo de substituio de
importaes, aproveitamos a reserva de mercado representada pela prpria
possibilidade de substituir importaes. Nossa prioridade no era ento re-
duzir os custos industriais, mas ocupar o mercado, instalar a indstria. Na
primeira fase do modelo de subdesenvolvimento industrializado, a situao
j comeava a modificar-se medida que cresciam nossas exportaes indus-
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 211
triais, mas ainda foi possvel aumentar o mercado para os bens industriais,
principalmente durveis de consumo via criao do crdito direto ao consu-
midor e concentrao de renda das camadas mdias para cima.
Hoje essas oportunidades de transferncia de renda para a indstria esto
esgotadas. Nossa industrializao dever continuar, mas via exportao de
manufaturados tecnologicamente de ponta, e via aumento da exportao de
produtos agro-industriais. O crescimento do mercado interno ocorrer
medida que cresa a renda. Estaremos ento no modelo de subdesenvolvimen-
to industrializado maduro, talvez a ltima etapa de nossa histria enquanto
economia subdesenvolvida.
A transio do Brasil do subdesenvolvimento para o desenvolvimento
est em curso. Vem ocorrendo em meio a crises. De forma desigual. Com
superposio permanente de fases. No completamos a revoluo industrial
mecnica, para entrar na eltrica, e no completamos a eltrica para entrar-
mos plenamente, como hoje estamos, na revoluo eletrnica. Da mesma
forma, no logramos implantar uma sistema social-democrtico de proteo
social, do tipo que os europeus lograram construir, j que ao invs do Esta-
do do Bem-Estar, instalamos no Brasil um Estado Desenvolvimentista. Quan-
do este entrou em crise, a partir do incio dos anos 80, entramos em uma gran-
de crise econmica. Nos anos 90, entretanto, quando essa crise comea ser
superada, vai-se definindo um novo modelo de Estado, que estamos chamando
de Estado Social-Liberal. Social porque, ao contrrio do que pretendem os
grupos neoliberais (liberais radicais), o Estado continuar e aprofundar seu
trabalho nas reas da educao, da sade e da proteo social; liberal, por-
que o far ao mesmo tempo que dar mais espao para o mercado, seja na
produo de bens e servios pelas empresas privadas, seja na produo de
servios sociais essenciais a serem cada vez mais executados por organizaes
pblicas no-estatais, sem fins lucrativos, financiadas pelo Estado, mas com-
petitivas entre si.
Est cada vez mais claro que os conceitos histricos de esquerda e de
direita mudaram. Que, com a crise definitiva do estatismo sovitico, a nica
alternativa concreta para o Brasil a do capitalismo. Capitalismo que pode-
r ser mais ou menos desenvolvido, menos ou mais equilibrado, dependen-
do da capacidade que o pas tenha de reformar e reconstruir seu Estado, e
criar condies adequadas para o investimento das empresas privadas. Isto
no significa, entretanto, que o socialismo no possa continuar a ser uma
utopia possvel. Para isto necessrio, em primeiro lugar, ter claro que so-
cialismo no se confunde com estatismo, nem incompatvel com liberalis-
mo. O liberalismo representou um grande avano para a humanidade, na
212 Luiz Carlos Bresser Pereira
medida que logrou afirmar os direitos civis liberdade e propriedade. O
socialismo, por sua vez, teve um papel decisivo quando afirmou os direitos
sociais. Os direitos civis, entretanto, foram inicialmente, garantidos apenas
para a classe mdia e a classe alta. Sua extenso aos pobres, ao mesmo tempo
que se lhes garante os direitos sociais, algo que est ocorrendo neste final
de sculo, em um ritmo mais lento do que seria desejvel. Na medida, entre-
tanto, em que a democracia se consolida no Brasil, a tendncia ser a uma
maior afirmao dos direitos sociais. Dessa forma estaremos caminhando,
ainda que com muitas dificuldades e desafios, para o socialismo democrtico
do futuro.
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 213
214 Luiz Carlos Bresser Pereira
OBRAS CITADAS
ABREU, Marcelo de Paiva, org. (1990) Ordem e progresso: cem anos de poltica econmica
republicana. Rio de Janeiro, Editora Campus.
ALMEIDA, Rmulo (1985) Nordeste: desenvolvimento social e industrializao. Rio de Janei-
ro, Paz e Terra.
ALVES DOS SANTOS, Antnio Carlos (1996) A economia poltica da privatizao. So Paulo,
Fundao Getlio Vargas, Tese de Doutorado, setembro 1996.
ANDRADE, Manuel Correia de (1963) A terra e o homem do Nordeste. So Paulo, Livraria
Editora Cincias Humanas, 1980, 4 edio. Primeira edio, 1963.
ARAJO, Jos Tavares (1992) Mudana tecnolgica e competitividade das exportaes bra-
sileiras de manufaturados. Rio de Janeiro, UFRJ, Instituto de Economia Industrial.
ARIDA, Prsio (1983) Neutralizar a inflao, uma idia promissora. Economia e Perspec-
tiva (Conselho Regional de Economia de So Paulo), setembro 1993.
________, org. (1982) Dvida externa, recesso e ajuste estrutural. So Paulo, Editora Paz e
Terra.
________, org. (1986) Inflao zero: Brasil, Argentina, Israel. Rio de Janeiro, Editora Paz e
Terra. Trabalhos apresentados originalmente no seminrio patrocinado pelo Institute
of International Economics, Washington, novembro 1984.
BACHA, Edmar L. (1973) Sobre a Dinmica de Crescimento da Economia Industrial Subde-
senvolvida. Pesquisa e Planejamento Econmico 3(4) dezembro, 1973.
________ (1976) Os mitos de uma dcada. Rio de Janeiro, Editora Paz e Terra.
________. (1988) Moeda, inrcia e conflito: reflexes sobre as polticas de estabilizao no
Brasil. Pesquisa e Planejamento Econmico 18(1), abril 1988.
BACHA, Edmar L. e TAYLOR, Lance (1980) Models of Growth and Distribution for Brazil.
Washington, Banco Mundial.
BAER, Mnica (1993) O rumo perdido. So Paulo, Editora Paz e Terra.
BAER, Werner (1995) A economia brasileira. So Paulo, Editora Nobel.
BARAN, Paul e SWEEZY, Paul (1966) Capitalismo monopolista. Rio de Janeiro, Zahar Edito-
res, 1968. Publicado originalmente em ingls, 1966.
BARBOSA LIMA SOBRINHO, Alexandre (1963) Desde quando somos nacionalistas. Rio de Janeiro,
Editora Civilizao Brasileira.
BARROS, Jos Roberto Mendona de e GOLDENSTEIN, Ldia (1997) Avaliao do processo de
reestruturao industrial brasileiro:. Revista de Economia Poltica, 17(2), abril 1997.
BARROS, Ricardo Paes de e MENDONA, Rosane Silva Pinto de (1993) A evoluo do bem-
estar e da desigualdade no Brasil desde 1960. In BARROS e MENDONA, orgs. (1993).
BARROS, Ricardo Paes de e MENDONA, Rosane Silva Pinto de, et al. (1993) Desenvolvimento
econmico, investimento, mercado de trabalho e distribuio de renda. Rio de Janei-
ro, Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social BNDES.
BARZELAY, Michael (1986) The Politicized Market Economy. Berkeley, University of California
Press.
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 215
BATISTA Jr., Paulo Nogueira (1983) Mito e realidade da dvida externa. So Paulo, Editora
Paz e Terra.
________ (1987) Formao de capital e transferncia de recursos ao exterior. Revista de
Economia Poltica 7(1), janeiro 1987.
________ (1988) Da crise internacional moratria brasileira. So Paulo, Editora Paz e Terra.
________ (1996) O Plano Real luz da experincia mexicana e argentina. Estudos Avan-
ados 10(28), 1996.
BONELLI, Regis (1976) Tecnologia e crescimento industrial: a experincia brasileira dos anos
60. Rio de Janeiro, IPEA/INPES, Srie Monogrfica n 25.
________ (1996) Ensaios sobre poltica econmica e industrializao no Brasil. Rio de Ja-
neiro, SENAI.
BONELLI, Regis e MALAN, Pedro S. (1976) Os limites do possvel: notas sobre o balano de
pagamentos nos anos 70. Pesquisa e Planejamento, 6(2), agosto 1976.
BONELLI, Regis e GUIMARES, Eduardo Augusto (1981) Taxas de lucro de setores industriais
no Brasil: uma nota sobre sua evoluo no perodo 1973/79. Estudos Econmicos,
11(3), setembro 1981.
BONELLI, Regis e RAMOS, Lauro (1993) Distribuio de renda no Brasil: uma avaliao das
tendncias de longo prazo e mudanas na desigualdade desde meados dos anos 70.
Revista de Economia Poltica, 13(2) abril 1993.
BONOMO, Marco Antnio (1993) Busca e inflao. In OLIVERA FONTES, org. (1993).
BORGES, UTA, FREITAG, Heiko, HURTIENNE, Thomas e NITSCH, Manfred (1988) Proalcool.
Aracaju, Universidade Federal de Sergipe.
BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos (1963) O empresrio industrial e a revoluo brasileira. Re-
vista de Administrao de Empresas 2(8), julho 1963.
________ (1968) Desenvolvimento e crise no Brasil 1930-1967. Rio de Janeiro, Editora
Zahar. A segunda (1970), a terceira (1972) e a quarta edio (1985), atualizadas, so
publicadas pela Editora Brasiliense.
________ (1970) Dividir ou multiplicar: a distribuio de renda e a recuperao da econo-
mia brasileira, em Revista Viso, novembro 1970. Republicado em BRESSER PEREIRA
(1972: 211-221).
________ (1973) O novo modelo brasileiro de desenvolvimento. Dados, n 11, 1973.
________ (1977a) Estados e subdesenvolvimento industrializado. So Paulo, Editora Brasi-
liense.
________ (1978) O colapso de uma aliana de classes. So Paulo, Editora Brasiliense.
________ (1981) A sociedade estatal e a tecnoburocracia. So Paulo, Brasiliense.
________ (1984) Desenvolvimento e crise no Brasil 1930-1983. So Paulo, Editora Bra-
siliense, 1985, 14a edio. (Corresponde ao texto da edio em ingls publicada em
1984; este livro foi originalmente publicado em 1968 e atualizado em 1970, 1972 e
1984, quando alcanou sua verso definitiva).
________ (1985) Pactos polticos. So Paulo, Editora Brasiliense.
________ (1986) Lucro, acumulao e crise. So Paulo, Editora Brasiliense, 1986.
________ (1987) Mudanas no padro de financiamento do investimento no Brasil. Re-
vista de Economia Poltica 7(4), outubro 1987. Republicado em Bresser Pereira, 1991.
________ (1990) A crise da Amrica Latina: consenso de Washington ou crise fiscal?.
Pesquisa e Planejamento Econmico 21(1), abril 1991. Aula Magna no XVII Con-
gresso da ANPEC (Associao Nacional de Ps-Graduao em Economia), dezembro
1990. Republicado em BRESSER PEREIRA (1991).
216 Luiz Carlos Bresser Pereira
________ (1991) A crise do Estado. So Paulo, Editora Nobel.
________ (1992) Contra a corrente: a experincia no Ministrio da Fazenda. Revista Bra-
sileira de Cincias Sociais, n 19, julho 1992. Verso revisada de depoimento prestado
ao Instituto Universitrio de Pesquisas do Rio de Janeiro em setembro de 1988 e ori-
ginalmente publicado como um texto para discusso do IUPERJ.
________ (1995) A Turning Point in the Debt Crisis. So Paulo, Fundao Getlio Var-
gas, Departamento de Economia, Texto para Discusso n 48, 1995.
________ (1996a) Crise econmica e reforma do Estado no Brasil. So Paulo, Editora 34.
________ (1996b) Da administrao pblica burocrtica gerencial. Revista do Servio
Pblico, 47(1) janeiro 1996.
________ (1997) Interpretaes sobre o Brasil. In BIANCHI, Ana Maria, DURAND, Maria Rita
Loureiro, MANTEGA, Guido e ANAUATE, Francisco, orgs. (1997) 50 anos de pensamen-
to econmico no Brasil. Rio de Janeiro, Editora Vozes.
BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos, org. (1989) Dvida externa: crise e solues. So Paulo, Edito-
ra Brasiliense.
________ (1991) Populismo econmico. So Paulo, Editora Nobel.
BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos, MARAVALL, Jos Maria e PRZEWORSKI, Adam (1993) Reformas
econmicas em novas democracias. So Paulo, Editora Nobel, 1996. Publicado origi-
nalmente em ingls, 1993.
BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos e THORSTENSEN, Vera (1992) Do Mercosul integrao ameri-
cana. Poltica Externa, 1(3) dezembro 1992.
BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos e NAKANO, Yoshiaki (1983) Fatores aceleradores, mantenedores
e sancionadores da inflao. Anais do X Encontro Nacional de Economia, Belm,
ANPEC, dezembro 1983. Reproduzido em Revista de Economia Poltica, 4(1), janei-
ro 1984 e em Inflao e recesso (1984).
________ (1984a) Poltica administrativa de controle da inflao. Revista de Economia
Poltica 4(3), julho 1984. Reproduzido em Inflao e recesso (1984).
________ (1984b) Inflao e recesso. So Paulo, Editora Brasiliense.
CAMARGO, Jos Mrcio e GIAMBIAGI, Fbio, org. (1991) Distribuio de renda no Brasil. So
Paulo, Editora Paz e Terra.
CANITROT, Adolfo (1975) A experincia populista de redistribuio de renda. In BRESSER
PEREIRA, org. (1991) Populismo econmico. So Paulo, Nobel. Originalmente publi-
cado em 1975.
CANUTO, Otaviano (1994a) Brasil e Coria do Sul: os (des)caminhos da industrializao tar-
dia. So Paulo, Editora Nobel.
________ (1994b) Abertura comercial, estrutura produtiva e crescimento econmico na
Amrica Latina. Economia e Sociedade, n 3, dezembro 1994 (Revista do Instituto
de Economia da UNICAMP).
CARDOSO, Eliana (1985) Economia brasileira ao alcance de todos. So Paulo, Editora Brasiliense.
________ (1988) O Processo inflacionrio no Brasil e suas relaes com o dficit e a dvida
do setor pblico. Revista de Economia Poltica, 8(2) abril 1988.
________ (1991) Das inrcia megainflao: o Brasil nos anos 80. Pesquisa e Planejamento
Econmico, 21(1) abril 1991.
CARDOSO, Eliana e FISHLOW, Albert (1988) Macroeconomia da dvida externa. So Paulo,
Editora Brasiliense.
CARDOSO, Fernando Henrique (1972) O modelo poltico brasileiro e outros ensaios. So Paulo,
Difuso Europia do Livro.
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 217
CARDOSO, Fernando Henrique e FALETTO, Enzo (1970) Dependncia e desenvolvimento na
Amrica Latina. Rio de Janeiro, Zahar Editores.
CASTRO, Antnio Barros de (1969) 7 ensaios sobre a economia brasileira. Rio de Janeiro,
Forense.
CASTRO, Antnio Barros de e PIRES DE SOUZA, Francisco Eduardo (1985) A economia brasi-
leira em marcha forada. Rio de Janeiro, Editora Paz e Terra.
________ (1995) O Nordeste e a Bahia no contexto criado no Plano Real. In Superinten-
dncia de Estudos Econmicos e Sociais da Bahia, O Nordeste e a Nova Realidade Eco-
nmica. Salvador, Governo do Estado da Bahia.
COUTINHO, Luciano e FERRAZ, Joo Carlos, orgs. (1994) Estudo da competitividade da in-
dstria brasileira. Campinas, Editora da UNICAMP e Papirus Editora.
CYSNE, Rubens Penha (1993) Brasil: bases para a retomada do crescimento. In FONTES,
Olivera org. (1993).
DEAN, Warren (1971) A industrializao de So Paulo (1980-1945). So Paulo, Difuso
Europia do Livro e Editora Universidade de So Paulo.
ERBER, Fbio, ARAJO JNIOR et al. (1974) Absoro e criao de tecnologia e indstria de
bens de capital. Rio de Janeiro, FINEP.
ERBER, Fbio e CASSIOLATO, Jos Eduardo (1997) Revista de Economia Poltica, 17(2) abril
1997.
ERIS, Ibrahim et al. (1979) Distribuio de renda e sistema tributrio do Brasil. Anais do
Congresso da ANPEC, dezembro 1979.
FISHLOW, Albert (1971) Origens e conseqncias da substituio de importaes no Brasil.
Estudos Econmicos 2(6) dezembro, 1972. Publicado originalmente em ingls em 1971.
________ (1975) A distribuio de renda no Brasil. In TOLIPAN e TINELLI, orgs. (1975).
FISHLOW, Albert, FISZBEIN, Ariel e RAMOS, Lauro (1993) Distribuio de renda no Brasil e na
Argentina, uma anlise comparativa. Pesquisa e Planejamento Econmico, 23(1) abril
1993.
FRANCO, Gustavo H.B. (1995) O Plano Real. Rio de Janeiro, Editora Francisco Alves.
FURTADO, Celso (1959a) Formao econmica do Brasil. Rio de Janeiro, Fundo de Cultura.
________ (1959b) A operao Nordeste. Rio de Janeiro, Instituto de Estudos Brasileiros.
________ (1961) Desenvolvimento e subdesenvolvimento. Rio de Janeiro, Fundo de Cultura.
________ (1962) A pr-revoluo brasileira. Rio de Janeiro, Fundo de Cultura.
________ (1964) Dialtica do desenvolvimento. Rio de Janeiro, Fundo de Cultura.
________ (1966) Subdesenvolvimento e estagnao na Amrica Latina. Rio de Janeiro, Ci-
vilizao Brasileira.
________ (1984) O Nordeste: reflexes sobre uma poltica alternativa de desenvolvimen-
to. Revista de Economia Poltica, 4(3) julho 1984.
GALBRAITH, John Kenneth (1967) O novo estado industrial. Rio de Janeiro, Civilizao Bra-
sileira, 1968. Publicado originalmente em ingls, 1967.
GOLDENSTEIN, Ldia (1994) Repensando a dependncia. So Paulo, Editora Paz e Terra.
HOFFMAN, Rodolfo (1972) Tendncias da distribuio da renda no Brasil e suas relaes com
o desenvolvimento econmico. In TOLIPAN e TINELLI, orgs. (1975). Apresentado ori-
ginalmente reunio anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Cincia, So
Paulo, julho 1972.
HIRSCHMAN, Albert O. (1979) The Rise and Decline of Development Economics. In Essays
in Trespassing, Cambridge University Press, 1981.Trabalho originalmente apresenta-
do em 1979.
218 Luiz Carlos Bresser Pereira
HOLANDA BARBOSA, Fernando (1987) Ensaios sobre inflao e indexao. Rio de Janeiro,
Editora da Fundao Getlio Vargas.
________ (1993) Hiperinflao: cmbio, moeda e ncoras nominais. In OLIVERA FONTES,
org. (1993).
JAGUARIBE, Hlio (1958) O nacionalismo na atualidade brasileira. Rio de Janeiro, ISEB.
________ (1962) Desenvolvimento econmico e desenvolvimento poltico. Rio de Janeiro,
Fundo de Cultura.
KUME, Honrio (1996) Mercosul 1995: uma avaliao preliminar. In A economia bra-
sileira em perspectiva 1996. Rio de Janeiro, IPEA, 1996.
LAMBERT, Jacques (1959) Os dois Brasis. So Paulo, Companhia Editora Nacional, 1967.
Primeira edio, Instituto Nacional do Livro, 1959.
LARA RESENDE, Andr (1984) A moeda indexada: uma proposta para eliminar a inflao
inercial. Gazeta Mercantil, 26, 27, 28 de setembro, 1984.
________ (1985) Moeda indexada: nem magia nem panacia. Revista de Economia Pol-
tica 5(2), abril 1985.
________ (1988) Da inflao crnica hiperinflao: observaes sobre o quadro atual.
Revista de Economia Poltica 9(1), janeiro 1989. Trabalho apresentado ao I Frum
Nacional, Rio de Janeiro, novembro 1988.
________ (1992) O conselho da moeda: um rgo emissor independente. Revista de Eco-
nomia Poltica 12(4), outubro 1992.
LARA RESENDE, Andr e ARIDA, Prsio (1984) Inflao inercial e reforma monetria. In ARIDA,
Prsio, org. (1986) Inflao zero: Brasil, Argentina, Israel. Rio de Janeiro, Editora Paz
e Terra. Originalmente apresentado em seminrio organizado pelo Institute for Inter-
national Economics, Washington, novembro 1984.
LIMA, Heitor Ferreira (1954) Evoluo industrial de So Paulo. So Paulo, Livraria Martins
Editora.
________ (1961) Formao industrial do Brasil Perodo Colonial. Rio de Janeiro, Edito-
ra Fundo de Cultura.
LIMA, Luiz Antnio Oliveira (1996) Modelos ortodoxos de inflao alta. Revista de Eco-
nomia Poltica, 16(4), outubro 1996.
LOPES, Francisco L. (1984a) S um choque heterodoxo pode derrubar a inflao. Econo-
mia em Perspectiva (Conselho Regional de Economia de So Paulo), agosto 1984.
________ (1984b) Inflao inercial, hiperinflao e desinflao. Revista da ANPEC, n 7,
dezembro 1984. Republicado em Francisco L. Lopes (1986).
________ (1986) Choque heterodoxo: combate inflao e reforma monetria. Rio de Ja-
neiro, Editora Campus.
________ (1989) O desafio da hiperinflao. Rio de Janeiro, Editora Campus.
LUZ, Ncia Vilela (1961) A luta pela industrializao do Brasil. Rio de Janeiro, Difuso Eu-
ropia do Livro.
MARANHO, Silvio, org. (1984) A questo Nordeste. Rio de Janeiro, Paz e Terra.
MELLO, Joo Manoel Cardoso de (1975) O capitalismo tardio. So Paulo, Editora Brasilien-
se, 1982. Tese de doutorado defendida em 1975.
MELO, Fernando Homem de e FONSECA, Eduardo Giannetti da (1981) Proalcool, energia e
transportes. So Paulo, FIPE/Pioneira.
MELO, Fernando Homem de e PELIN, Eli Roberto (1984) As solues energticas e a econo-
mia brasileira. So Paulo, Hucitec.
MENDONA DE BARROS, Jos Roberto e GRAHAM, Douglas H. (1978) A agricultura brasileira
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 219
e o problema da produo de alimentos. Pesquisa e Planejamento Econmico 8 (3)
dezembro 1978.
MODIANO, Eduardo (1985) O repasse gradual: da inflao passada aos preos futuros.
Pesquisa e Planejamento 15(3), dezembro 1985.
________ (1988) Inflao: inrcia e conflito. Rio de Janeiro, Editora Campus.
MOREIRA, Maurcio Mesquita e CORRA, Paulo Guilherme (1997) Abertura comercial e in-
dstria: o que se pode esperar e o que se vem obtendo. Revista de Economia Poltica,
17(2) abril 1997.
NAKANO, Yoshiaki (1981) A destruio da taxa de lucro e da renda da terra na agricultu-
ra. Revista de Economia Poltica, 1(3) julho 1981.
________ (1982) Recesso e inflao. Revista de Economia Poltica 2(2), abril 1982.
________ (1989) Da inrcia inflacionria hiperinflao. In REGO, J. M., org. (1989) A
acelerao recente da inflao. So Paulo, Editora Bienal.
________ (1993) Ciclos de inflao e choques no Brasil, 1986-1991. In OLIVERA FONTES,
org. (1993).
NASSUNO, Marianne (1998) Presso externa e abertura comercial no Brasil. Revista de
Economia Poltica, 18(1) janeiro 1998.
NICOL, Robert C. (1974) A agricultura e a industrializao no Brasil. Tese de Doutoramento,
So Paulo, Universidade de So Paulo, Faculdade de Filosofia e Cincias Humanas,
Departamento de Cincias Sociais.
________ (1997) O conceito de pr-requisitos para a industrializao. Revista de Econo-
mia Poltica, 17(4), outubro 1997.
OLIVEIRA, Gesner de (1996) Brasil real. So Paulo, Editora Mandarim.
OLIVERA FONTES, Rosa Maria, org. (1993) Inflao brasileira. Viosa, Universidade Federal
de Viosa.
PASTORE, Affonso Celso (1997) Passividade monetria e inrcia. Revista Brasileira de Eco-
nomia, 51(1) janeiro 1997.
PAULA, Germano M. de (1997) Avaliao do processo de privatizao da siderurgia brasi-
leira. Revista de Economia Poltica, 17(2) abril 1997.
PINHEIRO, Armando Castelar (1996) Impactos microeconmicos da privatizao no Brasil.
Pesquisa e Planejamento Econmico, 26(3), dezembro 1996.
PINTO, Anbal (1967) Distribuio de renda na Amrica Latina e desenvolvimento. So Pau-
lo, Editora Paz e Terra, 1973. Primeira edio em espanhol, 1967.
________ (1970) Naturaleza e implicaciones de la heterogeneidad estrutural de la America
Latina. El Trimestre Econmico, 37(145), janeiro 1970.
________ (1978) Inflao recente no Brasil e na Amrica Latina. Rio de Janeiro, Graal.
PRADO JR., Caio (1942) Formao do Brasil contemporneo. So Paulo, Editora Brasiliense.
5a edio, 1957.
________ (1945) Histria econmica do Brasil. So Paulo, Editora Brasiliense. 4a edio, 1956.
________ (1966) A revoluo brasileira. So Paulo, Editora Brasiliense.
PREBISCH, Raul (1949) O desenvolvimento econmico da Amrica Latina e seus principais
problemas. Revista Brasileira de Economia 3(4) dezembro 1949. Corresponde apro-
ximadamente ao texto do Estudio Econmico de Amrica Latina. (Santiago do Chile:
CEPAL Comisso Econmica para a Amrica Latina das Organizao das Naes
Unidas, 1950).
RAMOS, Lauro (1993) Distribuio dos rendimentos no Brasil 1976/85. Rio de Janeiro, IPEA.
RANGEL, Igncio (1957) Dualidade bsica da economia brasileira. Rio de Janeiro, ISEB.
220 Luiz Carlos Bresser Pereira
________ (1962) A inflao brasileira. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro.
________ (1978) Posfcio. In A inflao brasileira. 3a edio. So Paulo, Brasiliense.
________ (1981) A histria da dualidade brasileira. Revista de Economia Poltica, vol. 1,
n 4, outubro 1981.
RATTNER, Henrique (1988) Poltica industrial; projeto social. So Paulo, Editora Brasiliense.
SACHS, Jeffrey D. (1988) Conflito social e polticas populistas na Amrica Latina. Revista
de Economia Poltica 10(1), janeiro 1990. Republicado em BRESSER PEREIRA, org. (1991)
Populismo econmico. So Paulo, Nobel, 1991. Trabalho apresentado conferncia
Markets, Institutions and Cooperation, Veneza, outubro 1988.
SACHS, Jeffrey D. e ZINI, lvaro (1995) A inflao brasileira e o Plano Real. Revista de Eco-
nomia Poltica, 15(12) abril 1995.
SAYAD, Joo (1984) O crdito rural no Brasil. So Paulo, FIPE/Pioneira.
SCHMITZ, Hubert e CARVALHO, Ruy de Quadros, orgs. (1988) Automao, competitividade e
trabalho. So Paulo, Hucitec.
SILVA, Adroaldo Moura da (1983) Regras de ajustes de preos e salrios e a inrcia inflacio-
nria. Estudos Econmicos, 12(2) maio 1983.
SILVA, Adroaldo Moura da et al. (1983) FMI x Brasil: a armadilha da recesso. So Paulo,
Frum Gazeta Mercantil.
SILVA, Srgio S. (1976) Expanso cafeeira e origem da indstria no Brasil. So Paulo, Edito-
ra Alfa Omega.
SIMONSEN, Mrio Henrique (1970) Inflao: gradualismo x tratamento de choque. Rio de
Janeiro, ANPEC.
SIMONSEN, Roberto (1937) Histria econmica do Brasil: 1500-1820. So Paulo, Companhia
Editora Nacional.
________ (1995) 30 anos de indexao. Rio de Janeiro, Editora Fundao Getlio Vargas.
SINGER, Paul (1973) As contradies do milagre. Estudos CEBRAP, n 6, outubro, 1973.
________ (1976) A crise do milagre. Rio de Janeiro, Editora Paz e Terra.
SODR, Nelson Werneck (1964) Histria da burguesia brasileira. Rio de Janeiro, Civilizao
Brasileira.
SUZIGAN, Wilson (1976) As empresas do governo e o papel do Estado na economia brasilei-
ra. In Aspectos da participao do Governo na economia. Rio de Janeiro, IPEA/INPES.
________ (1986) Indstria brasileira: origem e desenvolvimento. So Paulo, Brasiliense.
________ (1996) Experincia histrica de poltica industrial no Brasil. Revista de Econo-
mia Poltica, 16(1), janeiro 1996.
SUZIGAN, Wilson e VILLELA, Annibal V. (1997) Industrial Policy in Brazil. Campinas, UNICAMP,
Instituto de Economia.
SZMRECSNYI, Tams (1979) O planejamento da agro-indstria canavieira no Brasil. So Paulo,
Hucitec.
TAUILE, Jos Ricardo (1988) Automao microeletrnica e competitividade: tendncias no
cenrio internacional. In SCHMITZ e CARVALHO, orgs. (1988).
________ (1997) Globalizao, tecnologias de informao e inteligncia social. Proposta,
n 72, maro 1997.
TAVARES, Maria da Conceio (1963) Auge e declnio do processo de substituio de im-
portaes no Brasil. In TAVARES, M.C. (1972) Da substituio de importaes ao ca-
pitalismo financeiro. Rio de Janeiro, Zahar. Originalmente publicado em espanhol,
1963.
TAVARES, Maria da Conceio e SERRA, Jos (1971) Mas all del estacionamento: una discusin
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 221
sobre el estilo de desarrollo reciente. El Trimestre Econmico, vol. XXXIII, n 152,
outubro 1971. Publicado em portugus em TAVARES, Maria da Conceio (1972).
THORSTENSEN, Vera, NAKANO, Yoshiaki, LIMA, Camila Faria e SATO, Cludio (1994) O Brasil
frente a um mundo dividido em blocos. So Paulo, Nobel e Instituto Sul-Norte.
TOLEDO, Joaquim Eli (1993) Panorama macroeconmico: recesso e acelerao inflacio-
nria. In OLIVERA FONTES, org. (1993).
VERSIANI, Flvio e MENDONA DE BARROS, Jos Roberto, orgs. (1977) Formao econmica
do Brasil. So Paulo, Editora Saraiva.
VILLELA, A. e SUZIGAN, W. (1973) Poltica do Governo e crescimento da economia brasileira:
1989-1945. Rio de Janeiro, Fundao Getlio Vargas.
WERLANG, Srgio (1993) Inflao e credibilidade. In OLIVERA FONTES, org. (1993).
WERNECK, Rogrio F. (1983) A armadilha financeira do setor pblico e as empresas esta-
tais, em SILVA, Adroaldo Moura da et al. (1983).
________ (1987) Empresas estatais e poltica macroeconmica. Rio de Janeiro, Campus.
222 Luiz Carlos Bresser Pereira
Economia Brasileira: Uma Introduo Crtica 223
ESTE LIVRO FOI COMPOSTO EM SABON PELA
BRACHER & MALTA, COM FOTOLITOS DO
BUREAU 34 E IMPRESSO PELA BARTIRA GRFICA
E EDITORA EM PAPEL OFF-SET 75 G/M2 DA
CIA. SUZANO DE PAPEL E CELULOSE PARA A
EDITORA 34, EM FEVEREIRO DE 1998.
224 Luiz Carlos Bresser Pereira
Você também pode gostar
- LOSANO, Mario G. Os Grandes Sistemas Jurídicos PDFDocumento725 páginasLOSANO, Mario G. Os Grandes Sistemas Jurídicos PDFAylton Jorge Ferreira Pinho100% (9)
- Apostila de TI para ConcursosDocumento143 páginasApostila de TI para ConcursosMariene Ferreira de OliveiraAinda não há avaliações
- MENESES, Filipe Ribeiro de - Salazar - Biografia DefinitivaDocumento828 páginasMENESES, Filipe Ribeiro de - Salazar - Biografia DefinitivaCarlos Dos S. Menezes100% (7)
- Apostila Digital Mp-Go - 2019 - Secret Rio Auxiliar PDFDocumento313 páginasApostila Digital Mp-Go - 2019 - Secret Rio Auxiliar PDFAdeline Oliveira67% (3)
- Maquiavel, A Política e o Estado Moderno (Antonio Gramsci)Documento230 páginasMaquiavel, A Política e o Estado Moderno (Antonio Gramsci)Anonymous WpqyzJ6100% (1)
- Caderno 2019 - Questões ANPEC Com GabaritoDocumento292 páginasCaderno 2019 - Questões ANPEC Com GabaritoRodrigo BertelliAinda não há avaliações
- Caderno Completo 2023 Ec BrasileiraDocumento349 páginasCaderno Completo 2023 Ec Brasileiramarqsmatheus01Ainda não há avaliações
- Monografia (UFRS) - A História Do Financiamento Hipotecário Americano, 1831-2009 - Maurício PozzebonDocumento64 páginasMonografia (UFRS) - A História Do Financiamento Hipotecário Americano, 1831-2009 - Maurício Pozzebonjdadv92Ainda não há avaliações
- Inercialismo InflacionarioDocumento102 páginasInercialismo InflacionarioLuiz Antonio AlvesAinda não há avaliações
- Livro Politicahabitacional 2017 PDFDocumento379 páginasLivro Politicahabitacional 2017 PDFJoaobazinga100% (1)
- A Crise Econômica Japonesa Dos Anos 1990 e A Armadilha de LiquidezDocumento72 páginasA Crise Econômica Japonesa Dos Anos 1990 e A Armadilha de LiquidezOtavio SilvaAinda não há avaliações
- Adalberto Martins 2021 - A Questão Agrária Brasileira Da Colônia Ao Governo BolsonaroDocumento266 páginasAdalberto Martins 2021 - A Questão Agrária Brasileira Da Colônia Ao Governo BolsonaroKeilla SilvaAinda não há avaliações
- Formação Do Capitalismo No BrasilDocumento79 páginasFormação Do Capitalismo No BrasilMatheus CortezAinda não há avaliações
- Etica Das Finanças-Robert SchilerDocumento28 páginasEtica Das Finanças-Robert SchilerJoe CarrotAinda não há avaliações
- O Mercado de Câmbio BrasileiroDocumento95 páginasO Mercado de Câmbio Brasileiroflans001001Ainda não há avaliações
- Geopolítica - Brasil PolíticoDocumento42 páginasGeopolítica - Brasil PolíticoPauloAinda não há avaliações
- (Maurício Borges Lemos) Um Novo Projeto para o BrasilDocumento121 páginas(Maurício Borges Lemos) Um Novo Projeto para o Brasilassessoria blocoAinda não há avaliações
- A Ordem Do Progresso Marcelo P Abreu PDFDocumento62 páginasA Ordem Do Progresso Marcelo P Abreu PDFAdry AmorimAinda não há avaliações
- D - Aula 09Documento217 páginasD - Aula 09Samara MascarenhasAinda não há avaliações
- Manual Moe Da Mercado SDocumento434 páginasManual Moe Da Mercado SMiaviankisi El GarcianoAinda não há avaliações
- História E-Tec IDocumento142 páginasHistória E-Tec ICíntia AlmeidaAinda não há avaliações
- A Crise Dos Anos 30Documento21 páginasA Crise Dos Anos 30placido julioAinda não há avaliações
- Heitor Lima Ferreira - História Política Econômica Industrial Do BrasilDocumento424 páginasHeitor Lima Ferreira - História Política Econômica Industrial Do BrasilIago MacedoAinda não há avaliações
- O Capital No Seculo 21 - Resumo PDFDocumento159 páginasO Capital No Seculo 21 - Resumo PDFRanielly PessoaAinda não há avaliações
- Planejamento Urbano em Tempos de Pandemia: Cidades Inclusivas, Sustentáveis e Inteligentes (CISI)Documento71 páginasPlanejamento Urbano em Tempos de Pandemia: Cidades Inclusivas, Sustentáveis e Inteligentes (CISI)Herick Lyncon Antunes RodriguesAinda não há avaliações
- Livro - Crônicas Do Possível 2Documento135 páginasLivro - Crônicas Do Possível 2Bruno SouzaAinda não há avaliações
- Revista de Finanà As Públicas PDFDocumento416 páginasRevista de Finanà As Públicas PDFdora_felix_3Ainda não há avaliações
- Fundo Público, Valor e Política Social - Capa - IniciaisDocumento16 páginasFundo Público, Valor e Política Social - Capa - IniciaisBrena GuedesAinda não há avaliações
- ECONOMIA SOLIDÁRIA v1Documento136 páginasECONOMIA SOLIDÁRIA v1mateusceAinda não há avaliações
- A (IN) CONSTITUCIONALIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DOS ADMINISTRADORES E GERENTES PELAS COIMAS APLICADAS À SOCIEDADE COMENTÁRIO AO ACÓRDÃO DO STA - IDEFF6 - Joao Matos VianaDocumento350 páginasA (IN) CONSTITUCIONALIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DOS ADMINISTRADORES E GERENTES PELAS COIMAS APLICADAS À SOCIEDADE COMENTÁRIO AO ACÓRDÃO DO STA - IDEFF6 - Joao Matos VianaJorge RochaAinda não há avaliações
- Os Efeitos Da Crise Financeira Sobre o BrasilDocumento59 páginasOs Efeitos Da Crise Financeira Sobre o BrasilCelson MartinsAinda não há avaliações
- 2015 AlaisBorgesNascimentoDocumento58 páginas2015 AlaisBorgesNascimentolucasmagrini67Ainda não há avaliações
- Itamaraty - História Da Diplomacia Brasileira PDFDocumento161 páginasItamaraty - História Da Diplomacia Brasileira PDFRoarrrrAinda não há avaliações
- Estudo Socioeconômico 2016 - Santo Antônio de PáduaDocumento123 páginasEstudo Socioeconômico 2016 - Santo Antônio de Páduagabyandre303Ainda não há avaliações
- ANDRÉ ELALI - Direito TributárioDocumento482 páginasANDRÉ ELALI - Direito TributárioThiago HerculanoAinda não há avaliações
- O Desenvolvimento Econômico E Cultural Do Brasil ImpérioNo EverandO Desenvolvimento Econômico E Cultural Do Brasil ImpérioAinda não há avaliações
- O Verdadeiro Desenvolvimento Economico EbookDocumento262 páginasO Verdadeiro Desenvolvimento Economico EbookDon Carlos SantosAinda não há avaliações
- Keynes e o New Dial - Natan Rocha BarbosaDocumento6 páginasKeynes e o New Dial - Natan Rocha BarbosaTesteAinda não há avaliações
- ANBIMA - O Sistema Financeiro e A Economia Brasileira Durante A Grande Crise de 2008Documento72 páginasANBIMA - O Sistema Financeiro e A Economia Brasileira Durante A Grande Crise de 2008IvanAinda não há avaliações
- 2016 TomeMirandaMaloa VOrig PDFDocumento162 páginas2016 TomeMirandaMaloa VOrig PDFElvino AlafoAinda não há avaliações
- A Verdade e Mentira Na Revolucao de Abril Alvaro CunhalDocumento321 páginasA Verdade e Mentira Na Revolucao de Abril Alvaro CunhalAndres Bueno100% (1)
- Estudo Socioeconômico 2016 - Angra Dos ReisDocumento122 páginasEstudo Socioeconômico 2016 - Angra Dos Reisaugusto emilioAinda não há avaliações
- Estudo Socioeconômico 2016 - Cabo FrioDocumento123 páginasEstudo Socioeconômico 2016 - Cabo FrioVisa BúziosAinda não há avaliações
- O Modernismo Na Arquitetura e Urbanismo Do BrasilDocumento99 páginasO Modernismo Na Arquitetura e Urbanismo Do BrasilquadrantearquiteturaAinda não há avaliações
- Ideologia e Propaganda Colonial No Estad PDFDocumento780 páginasIdeologia e Propaganda Colonial No Estad PDFNoordyne MussaAinda não há avaliações
- Exilios Fluxos Migratorios e SolidariedadeDocumento114 páginasExilios Fluxos Migratorios e Solidariedaderuimpacheco2464Ainda não há avaliações
- Garcia, Domingos Sávio Da Cunha GarciaDocumento254 páginasGarcia, Domingos Sávio Da Cunha GarciaAndré NicacioAinda não há avaliações
- Estudo Socioeconômico 2016 - Iguaba GrandeDocumento122 páginasEstudo Socioeconômico 2016 - Iguaba GrandeThiago BarrosoAinda não há avaliações
- Estudo Socioeconômico 2016 - AraruamaDocumento122 páginasEstudo Socioeconômico 2016 - AraruamaLucas da Costa RodriguesAinda não há avaliações
- Presentacin - AGeopolticaAmbientalGlobaldoSculo21 osDesafiosparaaAmDocumento13 páginasPresentacin - AGeopolticaAmbientalGlobaldoSculo21 osDesafiosparaaAmLucas TiboAinda não há avaliações
- Estudo Socioeconômico 2016 - Armação Dos BúziosDocumento122 páginasEstudo Socioeconômico 2016 - Armação Dos BúziosGary SutherlandAinda não há avaliações
- Introducao A Gestao Financeira InternacionalDocumento42 páginasIntroducao A Gestao Financeira InternacionalÉrico LobãoAinda não há avaliações
- Projeto Etico Politico Do Servico Social BrasileiroDocumento25 páginasProjeto Etico Politico Do Servico Social BrasileiroLidiaSouzaAinda não há avaliações
- História Do Século XX - A Grande DepressãoDocumento41 páginasHistória Do Século XX - A Grande Depressãonperestrelo100% (6)
- 2019 Barroso Curso Direito Constitucional PDFDocumento11 páginas2019 Barroso Curso Direito Constitucional PDFSuellen FernandesAinda não há avaliações
- Final TOTALDocumento50 páginasFinal TOTALSamuel SilvaAinda não há avaliações
- Ebook - Crise Do Capitalismo Global No Mundo e No BrasilDocumento220 páginasEbook - Crise Do Capitalismo Global No Mundo e No BrasilGiovanni Alves100% (4)
- Os Lusíadas, Os Lusitos, Camões E O Estado NovoNo EverandOs Lusíadas, Os Lusitos, Camões E O Estado NovoAinda não há avaliações
- A Trajetória da Crise Financeira Internacional na Era da GlobalizaçãoNo EverandA Trajetória da Crise Financeira Internacional na Era da GlobalizaçãoAinda não há avaliações
- Telefonia Basica FINALDocumento123 páginasTelefonia Basica FINALMaria ZeliaAinda não há avaliações
- Ponto Dos Concursos - SENADO - AtualidadesDocumento676 páginasPonto Dos Concursos - SENADO - Atualidadesneideconcurseira100% (1)
- Aula 00 - Tópicos AvançadosDocumento387 páginasAula 00 - Tópicos AvançadosCléa GomesAinda não há avaliações
- Pneumatica (WWW Mecatronicadegaragem Blogspot Com)Documento121 páginasPneumatica (WWW Mecatronicadegaragem Blogspot Com)Mariene Ferreira de OliveiraAinda não há avaliações
- Apostila Robotica Profmolina PucrsDocumento98 páginasApostila Robotica Profmolina PucrsmarienebaixinhaAinda não há avaliações