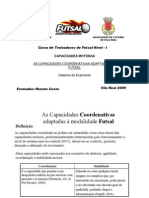Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
(Neo) Desenvolvimentismo Ou Luta de Classes
(Neo) Desenvolvimentismo Ou Luta de Classes
Enviado por
Denilson Campos NevesTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
(Neo) Desenvolvimentismo Ou Luta de Classes
(Neo) Desenvolvimentismo Ou Luta de Classes
Enviado por
Denilson Campos NevesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Brasil. (Neo)desenvolvimentismo ou luta de classes?
Autor(es): Pinassi, María Orlanda
Pinassi, María Orlanda. Profesora de Sociología, FCL/UNESP, integra el Consejo Asesor de la
revista Herramienta y es autora del libro Da miséria ideológica à crise do capital: uma
reconciliação histórica. San Pablo: Boitempo Editorial, 2009. Colaboradora habitual de
Herramienta.
(versión en español)
Às vésperas de completar 25 anos no Brasil, o neoliberalismo vem sendo o mote de
importantes análises e balanços acerca do seu desempenho no país, sobretudo por
estudiosos do campo da crítica marxista.
De modo breve, o processo neoliberal é apresentado em dois momentos distintos e
complementares ao mesmo tempo. O primeiro marcou os anos do governo de FHC através
das privatizações de empresas públicas, da desnacionalização da economia, da
desindustrialização, da reprimarização da produção interna (produção e exportação
de commodities) e da integração da burguesia brasileira ao imperativo capital
transnacionalizado.
O momento seguinte enseja o chamado neodesenvolvimentismo, processo que caracteriza os
governos Lula e Dilma. Sem romper com a lógica neoliberal, o “modelo” sugere formas
neokeynesianas, de modo a administrar os estragos causados pelo neoliberalismo das
gestões anteriores. Segundo consta, o Estado procuraria, então, recompor sua função (de
“alívio”) social – através da criação de empregos (quase sempre precários e temporários),
políticas de recuperação do salário mínimo e redistribuição de renda (Bolsas Família, Escola,
Desemprego etc.) -, enquanto a economia se renacionalizaria por meio de financiamentos do
BNDES à reindustrialização pautada na substituição de importações. Argumentos fortemente
questionáveis visto que as empresas públicas privatizadas hoje são fortemente controladas
por capitais externos (vide Vale), numa lógica em que a economia transnacionalizada do
sistema reconduz o Brasil ao papel produtor de bens primários para exportação.
É desse modo subalternizado que, pelas mãos do neoliberalismo, o capitalismo brasileiro
vem apresentando alguns dos melhores desempenhos econômicos do sistema. O capital, em
processo de crise generalizada, tem pouco a lamentar e muito a comemorar por aqui: veja-
se a estratosférica lucratividade bancária e o enorme crescimento da indústria da construção
civil. Mais impressionante ainda é o desempenho da mineração, do agronegócio, do setor
energético e dos números que apontam para o grande aumento de áreas agricultáveis[1], de
florestas, de rios e outras tantas de proteção ambiental, invadidas e destruídas por pasto,
monocultivo de cana, de soja, de celulose, de laranja, por extração mineral, por barragens.
Com razão, é unânime a condenação que se faz da hegemonia do capital financeiro sob o
neoliberalismo tendo em vista as consequências sociais nefastas que provoca.
Estranhamente, porém, a solução que alguns estudiosos do tema encontram para esse
“impasse” vem da Economia Política e não de Marx. Ressaltam os avanços das políticas
sociais dos governos petistas, mas, acometidos de uma espécie de “síndrome de Proudhon”,
ouvem o sino tocar sem saber onde ele se encontra. Procuram-no num revival antidialético e
romântico do Estado de Bem Estar Social, do predomínio da indústria fordista, com suas
formas mais “humanizadas” de extração da mais-valia relativa. Saudades de algo que jamais
existiu por aqui.
Para além dessas boas intenções, o neoliberalismo, desde suas primeiras aparições já nos
anos de 1990, compõe a processualidade de uma mesma dinâmica de expansão e
acumulação de riquezas baseada na superexploração do trabalho. Só que desta vez sem os
entraves que as políticas keynesianas originais de controle das crises cíclicas certamente
apresentariam à lógica de uma atuação absolutamente intolerante a qualquer limite.
Isso quer dizer que a década de 1990, apesar de ter registrado um desempenho econômico
pior do que nos anos 1980, não foi perdida, como pensam, nem de estagnação para o
capital. Durante esses anos, o neoliberalismo pôs em prática seu fundamento mais
importante, aqui e em todo o mundo capitalista: interrompeu o avanço da classe
trabalhadora. A reestruturação produtiva implantada destruiu empregos e a estabilidade
(onde ela existia), criou o desemprego estrutural, disseminou a precarização – algo bastante
familiar ao mundo do trabalho no Brasil - e começou a desmantelar cada um dos direitos
trabalhistas conquistados pela classe trabalhadora desde Getúlio. Se o momento FHC criou
as condições da miséria, sem, contudo, destruir completamente a classe, o momento
seguinte lograria ainda maior sucesso nesta investida, criando e reproduzindo o miserável.
FHC ainda combatia a objetividade da classe trabalhadora, seus sindicatos e os movimentos
sociais. Os governos de conciliação de Lula e Dilma mantiveram a política de fragilização da
classe trabalhadora e investiram sobre a subjetividade do trabalhador. Numa obra magistral
de engenharia política, não mais o reconhecem como antípoda do capital. Tratam sindicatos
e movimentos populares como parceiros e ainda são pródigos na concessão de direitos para
as chamadas “minorias”, os direitos de cidadania que vão fortalecer a democracia formal.
Inegável o avanço da Lei Maria da Penha, dos direitos ampliados dos negros, dos índios e
dos homossexuais. O problema é a individualização desideologizada do tratamento,
devidamente orientado pelo Banco Mundial, de controle social do miserável. [2]
Caminho livre para a lógica da produção destrutiva e nele não há solução jurídica capaz de
conter o extermínio de comunidades indígenas, as expropriações sem fim das terras
quilombolas, de pequenos produtores e trabalhadores rurais sem terra – acampados ou
assentados -, não há solução possível para as remoções de levas imensas de moradores de
comunidades urbanas, muito menos para conter a superexploração de mulheres e crianças
ou a disseminação do trabalho escravo no campo e nas cidades.[3] Para os segmentos
atingidos, a criminalização e os rigores da repressão policial. Ou seja, a mais perfeita
democracia hoje realizada pelo mundo do capital é a sua absoluta “tolerância” com qualquer
forma de extração do sobre-trabalho: pode ser mais valia relativa, pode ser mais valia
absoluta.
Vistos dessa ótica, os tempos são inegavelmente difíceis, tornando urgente a tomada de
decisão: ou jogamos mais água no moinho satânico ou buscamos caminhos mais autênticos.
Ou somos apologetas ou críticos radicais.
Florestan Fernandes foi categórico a respeito: “[...] defendo toda carga possível da
saturação-limite dos papéis intelectuais dos sociólogos - não como servos do poder, porém
agentes do conhecimento e da transformação do mundo”. Sem meias palavras, define muito
claramente sua opção pela sociologia concreta baseada no “horizonte cultural socialista em
sua plenitude revolucionária”. [4]
Não poderia dispor, portanto, de melhor companhia para dizer que não pretendo
encontrar soluções para estabilizar o capital; não pretendo dar contribuição para torná-lo
mais funcional; nem venho propor algum tipo de pacto social com frações da burguesia
supostamente lesadas pelo imperativo capital financeiro. O ponto de vista que defendo está
ideologicamente comprometido com as necessidades mais legítimas dos indivíduos que
compõem a classe trabalhadora, cujo desafio maior da atualidade é conseguir transpor as
misérias materiais e ideológicas e reassumir, através da luta, a condição diuturnamente
vilipendiada de sujeito da história. Um primeiro passo deveria ser dado por suas
organizações – ou o que sobrou delas – no sentido de compreenderem, definitivamente, que
o agir revolucionário precisa aprender a se “virar” sem o canto de sereia das instituições
mediadoras da ordem.
[1] Há quem diga que, no Brasil, não há mais latifúndios improdutivos, então, para que
Reforma Agrária? Não temos espaço suficiente aqui para demostrarmos quão questionável é
essa “ideia”.
[2] Ver a respeito o Projeto de Lei PPA 2012/2015 (2011) através do qual a gestão da
presidenta Dilma Rousseff se propõe a enfrentar e dar visibilidade através dos programas
que englobam o Plano Brasil sem Miséria.
[3] Ao contrário, tudo tende a se agravar com a revisão do Código Florestal, da Mineração,
da demarcação das terras indígenas.
[4] Florestan Fernandes. A natureza sociológica da sociologia. São Paulo, Editora Ática, 1980
(p. 32)
Você também pode gostar
- Planejamento Tributário PDFDocumento120 páginasPlanejamento Tributário PDFMariana Marques100% (2)
- As Capacidades COORDENATIVAS Adaptadas À Modalidade de FUTSALDocumento16 páginasAs Capacidades COORDENATIVAS Adaptadas À Modalidade de FUTSALRenato Costa100% (9)
- Powerpoint - 0620 - 2018-Controlo de Gestão - PortimãoDocumento25 páginasPowerpoint - 0620 - 2018-Controlo de Gestão - Portimão8077719100% (6)
- Löwy, Michael, Walter Benjamín - Aviso de Incêndio. Uma Leitura Das Teses Sobre o Conceito de História'Documento4 páginasLöwy, Michael, Walter Benjamín - Aviso de Incêndio. Uma Leitura Das Teses Sobre o Conceito de História'Denilson Campos NevesAinda não há avaliações
- Parecer Da Área Técnica Do TCUDocumento21 páginasParecer Da Área Técnica Do TCUMetropoles0% (1)
- A Lavratura de TCO Pela PRF e Pela PMDocumento16 páginasA Lavratura de TCO Pela PRF e Pela PMDenilson Campos NevesAinda não há avaliações
- Eficiência Do Termo Circunstanciado de Ocorrência Lavrado Pela Polícia MilitarDocumento19 páginasEficiência Do Termo Circunstanciado de Ocorrência Lavrado Pela Polícia MilitarDenilson Campos NevesAinda não há avaliações
- Lei 11.370 09 Lei Orgânica Da Policia CivilDocumento42 páginasLei 11.370 09 Lei Orgânica Da Policia CivilDenilson Campos Neves100% (1)
- Topicos Sobre Segurança PúblicaDocumento4 páginasTopicos Sobre Segurança PúblicaDenilson Campos NevesAinda não há avaliações
- A Perfectibilidade Do CaráterDocumento3 páginasA Perfectibilidade Do CaráterDenilson Campos NevesAinda não há avaliações
- A Importância Dos Equipamentos de Qualidade Na MusculaçãoDocumento4 páginasA Importância Dos Equipamentos de Qualidade Na MusculaçãoDenilson Campos NevesAinda não há avaliações
- As Policias Norte AmericanasDocumento10 páginasAs Policias Norte AmericanasDenilson Campos NevesAinda não há avaliações
- Marx e o IndivíduoDocumento6 páginasMarx e o IndivíduoDenilson Campos NevesAinda não há avaliações
- Benefícios Da Contração Isométrica Nos Treinos de MusculaçãoDocumento3 páginasBenefícios Da Contração Isométrica Nos Treinos de MusculaçãoDenilson Campos NevesAinda não há avaliações
- Alexandre Camanho de Assis - Procuradoria Regional Da República - 1 RegiãoDocumento2 páginasAlexandre Camanho de Assis - Procuradoria Regional Da República - 1 RegiãoDenilson Campos Neves100% (1)
- Passeata Nazista em Bairro Judeu - O Caso Skokie - Direitos Fundamentais - BlogDocumento7 páginasPasseata Nazista em Bairro Judeu - O Caso Skokie - Direitos Fundamentais - BlogDenilson Campos NevesAinda não há avaliações
- Alimentos Com Alta Densidade Nutricional - Unilever Health InstituteDocumento2 páginasAlimentos Com Alta Densidade Nutricional - Unilever Health InstituteDenilson Campos NevesAinda não há avaliações
- Ciências - Anos IniciaisDocumento20 páginasCiências - Anos IniciaisLucas BaldoinoAinda não há avaliações
- Apostila Empreend Mod I 3 ELO CC 2010Documento91 páginasApostila Empreend Mod I 3 ELO CC 2010JasonOctoterAinda não há avaliações
- LAUDO CAMINHÃO MUNCK OficDocumento15 páginasLAUDO CAMINHÃO MUNCK OficGilmar RochoAinda não há avaliações
- Estado e Cultura Políticas de Identidade e Relações EconômicasDocumento12 páginasEstado e Cultura Políticas de Identidade e Relações EconômicasAna Cleia Ferreira RosaAinda não há avaliações
- Marketing Pessoal e EtiquetaDocumento98 páginasMarketing Pessoal e EtiquetaPr.Lindomar SoaresAinda não há avaliações
- Situacao Economico Financeira Do Estado 2009Documento670 páginasSituacao Economico Financeira Do Estado 2009mcostenaroAinda não há avaliações
- TCC - Caroline Francisco DaminDocumento18 páginasTCC - Caroline Francisco DaminmayckonrmAinda não há avaliações
- Importância Plantas - MedicinaisDocumento5 páginasImportância Plantas - MedicinaisHaloysio SiqueiraAinda não há avaliações
- E Metropolis 22 - Mulheres Negras, Movimentos Sociais e Direito À CidadeDocumento10 páginasE Metropolis 22 - Mulheres Negras, Movimentos Sociais e Direito À CidadeJessica RaulAinda não há avaliações
- Analista Informacoes Cultura Desporto Versao 2Documento8 páginasAnalista Informacoes Cultura Desporto Versao 2Kk42bAinda não há avaliações
- 7-LEI N. 7-04, 15Out-Lei - BasesProtec.SocialDocumento9 páginas7-LEI N. 7-04, 15Out-Lei - BasesProtec.SocialSílvia SantosAinda não há avaliações
- Apontamentos Sobre A Financeirização Do Ensino Superior No BrasilDocumento13 páginasApontamentos Sobre A Financeirização Do Ensino Superior No BrasilAll KAinda não há avaliações
- Geodiversidade PIDocumento176 páginasGeodiversidade PIDiego SantosAinda não há avaliações
- PDF Prova 01 Chqao 08Documento24 páginasPDF Prova 01 Chqao 08NathanTiagoAinda não há avaliações
- Ciência PolíticaDocumento38 páginasCiência PolíticaJoana Catarina São Lazaro InácioAinda não há avaliações
- Sociologia Esporte Mauro BettiDocumento3 páginasSociologia Esporte Mauro BettiprofdhenisAinda não há avaliações
- Ensaio - Filosofia Africana - Pedro FarhatDocumento12 páginasEnsaio - Filosofia Africana - Pedro FarhatPedroFarhatAinda não há avaliações
- Filosofia Política Contemporânea Atílio BoronDocumento405 páginasFilosofia Política Contemporânea Atílio BoronRicardoPRCAinda não há avaliações
- Cma D4Documento26 páginasCma D4amsohpAinda não há avaliações
- Arquitetura HospitalarDocumento137 páginasArquitetura HospitalarRenzoN.NAinda não há avaliações
- A Vida Na Sociedade IndustrialDocumento2 páginasA Vida Na Sociedade IndustrialDércio Orlando PinheiroAinda não há avaliações
- TCC - Tadeu Simplicio de Rosendo JúniorDocumento32 páginasTCC - Tadeu Simplicio de Rosendo JúniorAline LauraAinda não há avaliações
- Aulão Gratuito - GEOGRAFIA - PISM IIDocumento13 páginasAulão Gratuito - GEOGRAFIA - PISM IISarah .E.Ainda não há avaliações
- Revista Digital 02Documento56 páginasRevista Digital 02Vander Valter ViginottiAinda não há avaliações
- 6º Ano - 101 - Leitura de Fôlder de CampanhaDocumento21 páginas6º Ano - 101 - Leitura de Fôlder de CampanhaSautchukAinda não há avaliações
- Idade Moderna Exercícios de HistóriaDocumento12 páginasIdade Moderna Exercícios de HistóriaEdson Leite Duathlon100% (1)