Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Isabelle Launay - A Elaboração Da Memória Na Dança
Isabelle Launay - A Elaboração Da Memória Na Dança
Enviado por
Leonardo MachadoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Isabelle Launay - A Elaboração Da Memória Na Dança
Isabelle Launay - A Elaboração Da Memória Na Dança
Enviado por
Leonardo MachadoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A elaboração da memória na dança
1 Artigo da conferência realizada na
contemporânea e a arte da citação 1
Bienal SESC de Dança, na cidade
de Santos (SP) no ano de 2009.
(PARIS DANCE, 2009)
Resumo
Ao indagar-se, no início de seu texto, sobre como pensar o tempo de vida de um gesto Isabelle Launay
de dança, a pesquisadora Isabelle Launay instiga o leitor a problematizar as questões que Professora de História e Estética
da Dança Contemporânea –
concernem à ideia, vigente, de que a história da dança se dá por processos de transmissão.
Departamento de Dança da
A tradução deste artigo tem como objetivo central disponibilizar a hipótese aqui apresen- Universidade de Paris 8.
tada, relativa à importância de se levar em consideração o processo de esquecimento na
dinâmica da memória, o que possibilitaria um entendimento da história para além de um
eixo temporal linear.
Palavras-chave: Isabelle Launay. Gesto. Memória. Esquecimento. Citação. Recriação. Tradução de Ana Teixeira
Doutora em Comunicação e Semiótica
(2012) e mestre (2008) pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo
(PUC/SP). Formada em Educação
Física pela Universidade de Caxias
do Sul (1991), e em Arts du Spectacle
Elaborating the memory of Contemporary Mention Danse pela Université Paris
VIII-França (2002). É professora do
Dance and the art of quoting curso de Comunicação das Artes do
Corpo (PUC/SP) e do CLAC (Centro
Livre de Artes Cênicas em São
Bernardo do Campo-SP).
E-mail: aceteixeira@gmail.com
Abstract
By asking, at the beginning of her paper, how to think of the lifetime of a dance gesture, the
researcher Isabelle Launay leads the reader to question the issues that concern the current
idea that the dance history takes place through transmission processes. The purpose of the
translation of this article is to present the hypothesis dealt with herein related to the impor-
tance of considering the forgetfulness process in the memory dynamics, which would enable
comprehending history beyond a linear time axle.
Key words: Isabelle Launay. Gesture. Memory. Forgetfulness. Quotation. Recreation.
Dança, Salvador, v. 2, n. 1, p. 87-100, jan./jun. 2013 88
Como pensar o tempo de vida de um gesto de dança? Sob quais formas
ele permanece no presente? Mesmo que seja comum lembrar e lamentar
a falta de fontes de uma arte dita efêmera, não seria possível invocar essa
questão de outra maneira: considerando o esquecimento também como
uma grande oportunidade para a história da dança? Então, como e com
que finalidade o esquecimento é abordado na dança? Elogiá-lo não é, cer-
tamente, criticar a necessidade de uma história, negar o desejo de lem-
brar ou se recusar a alimentar as lembranças. Muito pelo contrário: é ten-
tar levar em conta o necessário processo do esquecimento para a própria
dinâmica da memória e os efeitos produtivos desse esquecimento para a
memória das obras de dança.
Se o esquecimento é um componente da própria memória, se não
está não existe sem aquele, somos então conduzidos a relativizar o ponto
de vista que estamos acostumados a ter sobre ele (e, em consequência,
sobre a memória). O esquecimento não é o lado negativo da memória,
não devendo ser considerado como falta a ser preenchida ou como perda
triste da lembrança; tampouco a memória é o lado positivo do esqueci-
mento, um lugar para a acumulação das lembranças e dos hábitos, como
um amplo estoque ou um reservatório onde poderíamos reencontrá-los,
voltando, como por magia, aos momentos do passado. Sabe-se, atualmen-
te, que a memória, longe de designar a capacidade de lembrar graças às
imagens que conservamos das coisas, como se estivessem impressas de
modo permanente em nosso cérebro, indica um processo complexo de
reinvenção perpétua do passado no presente.2 Sendo assim, quais práticas 2 Ver a apresentação de Israel
Rosenfield dos trabalhos sobre
ou quais políticas do esquecimento bailarinos e coreógrafos cultivaram, e a memória de Gerald Edelman
para que propósitos? (Prêmio Nobel), após Charcot,
Broca, Dejerine e Freud, da obra
Abordar aqui as formas e potencialidades criadoras do esquecimen- de título programático: Sacks e
to, no entanto, é também trabalhar com um modelo de tempo que não Rosenfield (1994).
depende de uma linha cronológica orientada num único sentido – de trás
para frente ou, ainda, do passado em direção ao presente – e organizada
seguindo medidas periódicas, o que asseguraria a coerência do relato his-
tórico. Em resumo, é uma história da dança que não espera que seu cam-
po de estudo seja homogêneo em relação a uma época ou que pertença a
um único tempo, uma história da dança não cronolimitada (consideran-
do-se apenas as marcas que existem), mas muito mais voltada à história
dos devires das obras coreográficas e à heterocronia que as organiza. Essa
proposta pressupõe considerar a história da dança como um processo no
decorrer do qual as obras coreográficas seriam suas primeiras intérpretes:
uma luta, um emaranhado de experiências cinestésicas, de imaginários
Dança, Salvador, v. 2, n. 1, p. 87-100, jan./jun. 2013 89
corporais, de espaços inventados, de temporalidades múltiplas que geram
a transformação ininterrupta que cada obra realiza a partir de outras, que
cada performance produz na sequência de uma outra. Pressupõe ainda
lembrar de uma evidência: a dança é uma arte “viva” – no momento do
gesto dançado, o passado não para de se reconfigurar e de gerar figuras
ainda não advindas. Tal questionamento conduz à análise dos tipos de
relações com o passado que tratam da história da dança, das famílias de
memórias e de esquecimentos que lutam entre si – e, muitas vezes, “dis-
putam o passado” – e de seus interesses e objetivos. Pode-se dizer, a título
de hipótese geral, que a “transmissão” na dança não existe. Ela só ocorre
mediante transformações, transduções, traduções, alterações, e de modo
muito inconsciente e inesperado.
Existem múltiplas formas de se trabalhar a memória de um gesto
para que uma experiência corporal se conte, se transforme, se estabilize,
se contamine e se dissemine, conscientemente ou não. Serão evocadas
aqui algumas delas: a prática da variação (que implica certa recusa da no-
ção de “obra”, em favor do que se convém chamar “tradição”), o trabalho
de reinterpretação (que pressupõe aceitar não ser proprietário do seu ges-
to, mas ser possuído por ele), a citação (que presume o esquecimento da
totalidade e a transferência para outro contexto) e, finalmente, a sobrevi-
vência (que supõe, no tocante a ela, o esquecimento do próprio tempo). A
sobrevivência não é, de fato, a variação, ou o revival, ou o renascimento,
tampouco é o arquétipo ou a lembrança; não pertence a um tempo contí-
nuo, mas, muito mais, a subdeterminações complexas, próprias ao movi-
mento de anamnese, uma forma de inconsciente histórico que atravessa
a história da dança e permite a volta intempestiva de gestos passados sob
múltiplas formas.
Nessa perspectiva, poderíamos fazer frutificar, no campo coreográ-
fico, a tese de Walter Benjamin segundo a qual a modernidade exige a
descoberta de um novo tipo de relação com o passado e a transmissão do
passado é substituída pela citação. (ARENDT, 1974, p. 291) Uma parte
da modernidade na dança assumiu, de fato, de maneira insistente, a crí-
tica da transmissão, a fim de reduzir a influência da tradição oral e abrir
um novo modo de se relacionar com o passado. Entretanto, é importan-
te lembrar que a modernidade na dança não inventou a possibilidade de
citar uma dança. O uso da citação já fazia parte do balé no século XIX. O
balé – para retomar aqui a noção, muito ampla na literatura, de intertex-
tualidade – é, sem dúvida, o gênero coreográfico “intertextual” por exce-
lência. Os jogos “intercoreográficos” e “intergestuais” (isto é, a retomada
Dança, Salvador, v. 2, n. 1, p. 87-100, jan./jun. 2013 90
seguindo modelos de composição, os plágios, os pastiches, mas também,
é claro, toda a dinâmica das variações) faziam desabrochar uma prática
clássica da citação no âmbito da tradição do balé. Esse trabalho se apoiava
em uma base de passos reaproveitável, concebida como um reservatório
de exemplos e de modelos mais ou menos emancipados da autoridade
dos autores, cujo estatuto era, por vários motivos, problemático. A citação
clássica repousava sobre hierarquias e valores que, ainda que instáveis,
serviam como medida para o julgamento sobre a adequação das varia-
ções. Ela ocorria, assim, em nome de uma tradição que o público conhe-
cia, e a invenção supunha a retomada de modelos dominantes com o in-
tuito de desenvolver toda uma estética da variação. Citar, nesse contexto,
não questionava a estética do balé, mas assegurava a sua memória e a de
suas técnicas corporais e tradições de interpretação. E essa memória sem-
pre transformada apresenta um movimento que ainda marca sua presen-
ça no âmbito das instituições coreográficas constituídas por companhias
de balé e de repertório.
O estilo novo de relação com o passado que Benjamin formula não
se ampara, portanto, no regime clássico da citação, mas em uma memó-
ria coreográfica livre da tradição que relativiza a ideia de transmissibili-
dade. Essa citação sem linhagem é paradoxal: ela é tanto o lugar no qual
a transmissão se realiza como o lugar de uma transmissão impossível.
Sabe-se que a busca de um estilo novo de relações com o passado foi, para
as vanguardas dos anos 1920, o motivo de numerosos debates contra-
ditórios, notadamente no campo da dança moderna na Alemanha, com
Rudolf Laban, Valeska Gert e Mary Wigman, e deu um novo status para
a citação na dança. Laban apresentou uma nova possibilidade de citação
(partitura – citação), e Valeska Gert mostrou outra (montagem/colagem
– citação). Quanto ao expressionismo de Wigman, se ele impunha uma
interdição de reapresentação de suas coreografias, beneficiava, por outro
lado, um retorno imprevisível de sobrevivências, de formas de citações in-
controláveis e sem autores – graças às quais a coreógrafa imaginava fazer
surgir gestos vindos de uma base cultural ancestral.
O interesse de um olhar sobre o que se chamará provisoriamente
de “intergesto” é imenso para a memória coreográfica. Quando a dança
se imagina em uma relação com o mundo, se imagina também numa
relação com ela mesma. A presença de uma dança anterior em uma ou-
tra dança, mesmo se ela resultar de uma citação, de um plágio, de uma
alusão, de uma paródia, de um pastiche ou de uma encenação burlesca,
provoca reflexão sobre a memória que a dança tem de si mesma. Assim,
Dança, Salvador, v. 2, n. 1, p. 87-100, jan./jun. 2013 91
o desafio não tem a ver com uma história das fontes de tal ou tal obra ou,
ainda, com um registro histórico que mostraria as influências de um co-
reógrafo sobre outro ou de um intérprete sobre outro, mesmo que isso
fosse muito interessante para a história das obras coreográficas. O de-
safio está muito mais em revelar como uma obra moderna inventa sua
própria origem/originalidade, inserindo-se num contexto histórico que
transparece mais ou menos. O desafio está, ainda, em mostrar na dança
aquilo que já foi amplamente utilizado nas demais artes, especialmente
na literatura e nas artes plásticas, isto é, seu incessante diálogo com a sua
própria história. Esse diálogo das obras contemporâneas com as obras
do passado foi amplamente obstruído por uma modernidade liquidado-
ra, pronta para tomar e consumir o novo como se ele fosse o inédito. E a
reapresentação de danças anteriores, as suas novas redações e interpreta-
ções, e a produção de obras do passado em outros corpos continuam sen-
do pouco estudadas pela história e pela crítica da dança.
Todo texto, entretanto, é a absorção e a transformação de outro texto,
escreveu Kristeva (1969, p. 115), no seu livro Séméiotiké. Essa ideia foi reto-
mada por Barthes (1973, p. 1013) alguns anos depois, em Théorie du texte:
“[...]todo texto é um tecido novo de citações ultrapassadas”, mesmo que
tais citações sejam pouco identificáveis ou explícitas. Assim, talvez esteja-
mos apenas “dançando” entre nós. E, como pessoas, não somos feitos de
pedaços de identidade, de imagens incorporadas, de traços de personalida-
de assimilados, “[...] o todo constituindo uma ficção chamada eu”?3 (SCH- 3 Schneider (1985, p.12) que inclui
a intertextualidade em suas
NEIDER, 1985, p. 12) Como a memória das obras coreográficas, liberadas finalidades interpretativas.
em parte de sua relação com a tradição oral, funciona, não tanto pela trans-
missão de corpo a corpo, mas pela inquietante força da citação? Retomada
aleatória ou assumida, vaga lembrança ou homenagem reivindicada, sub-
versão ou fidelidade ao modelo, citação literal ou mascarada, desintegrada
e dissolvida, os modos de retomada na dança contemporânea são múlti-
plos, e seria inútil tentar estabelecer a lista exaustiva deles. Atente-se aqui
a um modo de citação mais explícita e mais imediata, o da cópia, mais exa-
tamente o da cópia da cópia, isto é, a cópia de uma filmagem. Três artistas,
em atuação recente na França, abordaram o tema da cópia com propósitos
diferentes: Jérôme Bel, em Le dernier spectacle (1998), Latifa Laâbissi, em
Phasmes (2001-2002), e Mathilde Monnier, em Tempo 76 e City maquette.
Os três coreógrafos se posicionaram como artistas na situação de copistas
ou fizeram da cópia uma ferramenta privilegiada de produção, porém as
modalidades desse trabalho de copiar, assim como suas finalidades, foram
muito diferentes, até opostas em certos aspectos.
Dança, Salvador, v. 2, n. 1, p. 87-100, jan./jun. 2013 92
Os elementos básicos são: copiar uma dança gravada em vídeo e
inserir essa cópia em um novo contexto. Em 1998, o bailarino e coreó-
grafo Jérôme Bel foi um dos primeiros artistas a recorrer à prática da có-
pia como tema na dança. Além disso, a obra de Bel é bem inserida sob o
signo generalizado da citação, incorporando, de várias maneiras, trechos
e falas de outras obras. A dificuldade estaria, então, não apenas na sele-
ção e na extração dos trechos escolhidos, mas também nos problemas de
significação dessas transferências e desses deslocamentos em outro con-
texto, ou seja, nas suas modalidades de integração e de transformação.
Deteremo-nos aqui sobre Le dernier spectacle. Bel coloca no palco, no meio
da peça, o resultado da cópia de uma dança, tendo em vista a recópia pelo
público: um trecho de X minutos de um solo da coreógrafa alemã Susan
Linke, Wandlung (de 1978, isto é, criado 30 anos antes), com a música La
jeune fille et la mort, de Schubert. Essa cópia é apresentada quatro vezes
seguidas, por quatro intérpretes sucessivos, sendo uma mulher e três ho-
mens: Claire Haenni, Jérôme Bel, Antonio Carallo e Frédéric Séguette.
Isso significa que são quatro cópias da mesma coreografia, mas resultan-
do em quatro danças diferentes. Em Le dernier spectacle, a citação é clara-
mente proclamada, tornando-se visível. A heterogeneidade do material
é sublinhada e as marcas do empréstimo, delineadas: de um lado, no
programa da apresentação, pela referência precisa da peça, sua data, seu
autor; de outro lado, pela retomada do figurino, o mesmo para os quatro
bailarinos, idêntico ao de Linke – um vestido branco com suspensórios,
apertado na parte alta e bem amplo na parte de baixo, lembrando a figura
de Ondine –, e, ainda, pela retomada da mesma música de Schubert. É
notável o efeito provocado pela declaração inicial que faz cada intérprete
antes de dançar, na frente do palco: de pé e olhando para o público, enun-
ciam em um microfone, com voz lenta, calma e pausada, separando bem
cada palavra, “Ich bin Suzanne Linke”, como se pedissem a ela para dan-
çar em seu lugar. Essa declaração traduz, do ponto de vista cenográfico,
a função das aspas. Ela deixa lugar, no texto que a acolhe, ao enunciado
de outrem, neste caso, à coreografia de Linke num novo espaço-tempo. O
fim da citação é representado de outra maneira, pela saída pelo fundo do
palco, com vista para o jardim. Percebe-se, na hora, que reempregar não
é o mesmo que restituir.
Os efeitos poéticos do trabalho de citação, no entanto, se apoiam
também na repetição insistente (quatro vezes seguidas) da citação, a qual
leva a uma forma de “tédio” produtivo. Bel convida insistentemente o es-
pectador a comentar as diferenças e os microdesvios entre as quatro in-
Dança, Salvador, v. 2, n. 1, p. 87-100, jan./jun. 2013 93
terpretações, cada uma se esforçando em imitar o máximo que puder a
dança de Linke. A dança é repetida, mas é possível observar os desvios.
Além disso, é o esforço de tornar-se o outro, de desprender-se do seu pró-
prio gesto ou do seu próprio destino o que representa a dimensão primor-
dial do trabalho do intérprete (como, talvez, de toda a existência). Essa
dimensão é revelada igualmente nas transformações individuais que tal
esforço permite. A citação repetida tira proveito, também, de sua transfe-
rência a outro contexto. Sua extração faz com que a vejamos várias vezes,
e essa repetição a carrega de um significado que ela não tinha antes. É
como se esse tipo de trabalho permitisse que a citação se tornasse melhor
e aumentasse o seu poder de evocação poética. O extrato da cópia pode
tornar-se então quase tão interessante quanto o original: ele adquire uma
dimensão tragicômica em decorrência do uso do disfarce que não consta-
va na obra de Linke.
Longe de dessacralizar esse trecho de Wandlung, a citação o glorifica
e reativa seu sentido, tornando-o talvez mais destacado do que no origi-
nal. Mas o uso da citação vem, por outro lado, perturbar o papel do autor-
-proprietário e opera como se fosse uma jurisprudência: é possível copiar,
e a cópia pode se mostrar tão interessante quanto o original se ela revela
sentidos ainda não instituídos. A memória das obras se enrola na história
do indivíduo assegurando, assim, uma dimensão até então desconhecida
– tão desconhecida que a última ocorrência da citação dançada é escondida
por um lençol preto, que oculta a dança. O espectador é, então, convidado a
recitar a dança em sua imaginação e fazer funcionar por inteiro a sua me-
mória recente, a fim de juntar os fragmentos do que ele viu, aumentando
seu potencial para, por sua vez, copiar. A memória da obra é, assim, devol-
vida a ele como um assunto do qual ele deve, sozinho, dar conta.
Entre as propostas “eu fracasso tentando dançar” e “eu faço isso
como se fosse meu” há, sem dúvida, definições da arte: como repetição
obrigatória ou como apropriação. O artista, por meio de um dispositivo
que reformula a citação, “[...] pode se tornar proprietário do seu tema e
assim abandonar o traje desvalorizado do plagiário para vestir o traje mui-
to mais valorizado do autor.” (SAMOYAULT, 2005, p. 51) Dessa maneira,
ao contrário da declaração de Bel, Le dernier spectacle almeja a conquista
da noção de autor, a partir de um trabalho sobre a cópia, Um autor que,
quanto mais afastado, mais poderoso é. Ele se arrisca também a um des-
vio cultural, ao retirar a censura do fato de se copiar uma dança. Bel, com
toda razão, insiste que o campo coreográfico não soube refletir e autorizar
o direito da citação na dança por não ter pensado o bastante a respeito de
Dança, Salvador, v. 2, n. 1, p. 87-100, jan./jun. 2013 94
sua própria história. Ele, então, reabilita esse trabalho de cópia do qual os
bailarinos, em decorrência das respectivas formações que ativaram suas
capacidades mímicas, tornaram-se peritos, enquanto, em outros campos
artísticos, isso prosperava há muito tempo.
A história das artes e da literatura mostra, frequentemente, que não
há oposição verdadeira entre o inédito e o já dito, o que também deve va-
ler, a fortiori, para a história da dança, toda fundada na atividade mimética.
Para a dança, considerando-se que ela é uma prática gestual, interes-
sa constatar a primeira atividade constitutiva da história de uma pessoa:
o fato – em grande parte inconsciente – de que, logo após o nascimento,
imitamos nossos semelhantes (voz, movimento, atitude, postura, modo
de andar). Assim, ao longo de nossas vidas, apenas nos “entreimitamos”
fisicamente, num diálogo tônico e postural. A história desse dialogismo
gestual é justamente aquilo que constitui uma cultura gestual, ao mesmo
tempo singular e coletiva – como mostraram Marcel Mauss, já nos anos
1930, em um texto, hoje bem conhecido, sobre as técnicas do corpo, Aju-
riaguerra e toda a escola de Palo Alto, no campo da psicologia, e Daniel
Stern (2005), no campo da neuropsicologia. Citar e copiar, enquanto ati-
vidades que recorrem à imitação, implicam uma relação com a alteridade,
uma experimentação do gesto do outro. Procurando semelhança, algo do
outro que se pareça conosco, tentamos fazer com que ele chegue a nós,
mas, inversamente, agimos também sobre ele, e é possível medir os des-
vios desse processo.
O imitador se aproxima ou revela aquilo de que não temos imagens
ou que achamos ser inimitável, singular. Ele questiona nossa tendência
narcísica em acreditar que somos únicos e desvenda aquilo que, em nós,
define a nossa identidade, aquilo que resulta da construção da teatralida-
de e da dança íntima que nos fabricam (modo de olhar, de tocar, de se ma-
nifestar, de ficar de pé etc.). Não que não sejamos únicos. Mas o imitador
aponta nosso idiotismo gestual, “aquilo que nos designa”, nos distingue,
“sem nos pertencer”, retomando, assim, as palavras de Derrida. E aquilo
que nos designa é justamente aquilo já se estabilizou e até se fossilizou,
aquilo que não está mais em movimento. O imitador de nossos gestos re-
vela assim a nossa propensão, mais ou menos forte, a autocopiar, ou seja,
aquilo que temos de autoimitação, de autocitação. Se o que nos escapa
pode ser justamente aquilo de que alguém pode se apropriar, então o que
nos sobra de singular?
Nas artes, em particular na dança, talvez para escapar do risco regu-
lar de autoimitação e de cair no que se convém chamar uma caricatura
Dança, Salvador, v. 2, n. 1, p. 87-100, jan./jun. 2013 95
de si, os artistas recorrem à cópia dos seus semelhantes, pois, como dizia
Picasso, “é mais perigoso autocopiar-se do que copiar os outros.” Dessa
forma, o roubo de ideias, assim como de gestos, é difícil de ser compro-
vado, porque tudo está no modo, na maneira como nos apropriamos de
um determinado objeto. É nisso que reside uma das dimensões do ato
da criação.
Seria fastidioso e inútil lembrar os momentos da longa tradição da
cópia nas artes: das cópias romanas da arte grega chegando até Définitions/
Méthodes, de Claude Rutault, que fazia cópias de suas próprias telas, sem
esquecer o Museu de reproduções de Hanover, que, em 1929, apresentou
uma exposição colocando lado a lado originais de obras e suas cópias ou,
ainda, o trabalho de Warhol. Um artista como Giacometti colocava no mes-
mo plano a criação e a cópia, preenchendo, ao longo de sua vida, livros em
que se podiam ver suas cópias e seus esboços de cópias, frequentemen-
te justapostos às reproduções recortadas e coladas. “As cópias”, escreveu,
“fazem parte da minha vida [...], eu sempre tive vontade de fazer cópias a
partir de reproduções [...]. Copiar antes mesmo de me perguntar o porquê.
[...] Toda arte passada, de todas as épocas, surge na minha frente. Tudo é si-
multâneo, como se o espaço tomasse o lugar do tempo [...].” E acrescentou,
um pouco mais adiante: “Não posso dizer nada sobre isso, senão contaria 4 Citação copiada por nós dos
cadernos de Giacometti, na
a minha vida toda, tudo de que me lembro.” 4
exposição consagrada a ele, no
Para os bailarinos, não é tanto o museu que representa o passado, Beaurbourg em 2007.
mas o cinema. Eles transformam a história do cinema em um filão de
arquivos gestuais, em partituras de movimentos ou em um repertório gi-
gantesco de atitudes e de comportamentos. Com efeito, no século XX, a
história da dança é acessível principalmente por intermédio das imagens
do cinema e do vídeo. A história da dança se funde com a história do cine-
ma, com a qual ela é de fato atrelada: o cinema tem toda uma técnica do
corpo, como entendida por Marcel Mauss, e, inversamente, a dança é uma
fábrica de imagens. Num movimento de dupla captura, a dança e o cinema
5 Lembremos que a dança moderna
são lugares onde é produzida a mobilidade coletiva, bem como a sua ima- e o cinema são contemporâneos
gem. Eles são vastos laboratórios de experimentação gestual coletiva e de do final do século XIX, tanto na
Alemanha como nos EUA.
sua representação, e, neles, bailarinos e cineastas conspiram juntos, desde
o início do século XX.5 Copiar-dublar a dança na tela, tal foi a primeira ma- 6 Título que a artista recupera do
livro de Georges Didi-Huberman
neira adotada pelos bailarinos contemporâneos para se apropriarem das (2000). Um phasme (bicho-
danças do passado. Se o documento copiado não era a preocupação de Bel pau) designa, lembremos, um
pequeno inseto delgado, que há
(ele procurou ocultá-lo), a relação com o documento é, em contrapartida, o a propriedade de adotar a forma
e a cor do suporte onde ele se
coração de Phasmes,6 de 2003, três solos de Latifa Laâbissi, que, no palco, encontra, geralmente na grama,
apresenta não apenas a fonte copiada, mas também a atividade de copiar em pedaços de madeira, etc.
Dança, Salvador, v. 2, n. 1, p. 87-100, jan./jun. 2013 96
três filmes em que dançam sucessivamente Wigman, Gert e Dore Hoyer. A
intérprete que dubla a imagem passa a entender a obra com seu corpo. Ela
precisa alterar seu preparo muscular, físico e psíquico em função de cada
corpo mostrado na tela – olhar, copiar, dançar. Dessa forma, o arquivo tem,
antes de tudo, o valor de sua utilização. Ele não é empregado como docu-
mento histórico que exige um comentário, tampouco como documento va-
lioso, exumado cuidadosa e metodicamente, de acordo com os procedimen-
tos ad hoc. Nesse caso, ele não é um objeto de pura contemplação estética,
e em nada acentua a aura dos velhos filmes em preto e branco ligados ao
fascínio de horizontes distantes. Antes de tudo, ele é um elemento de tra-
balho no palco, circunstancial, para fins de captação, tanto para a bailarina
como para o espectador. Voltar no tempo consiste, principalmente, em fazer
um trabalho de copiadora-dubladora, seguir e imitar o que os corpos estão
fazendo nas imagens, copiar trechos de um material gestual, tal como o his-
toriador escreve no papel ou digita no seu computador as citações que são
de interesse para o trabalho em curso. Depois, é necessário captar, assimilar
a cópia no corpo, colocar-se no lugar de.
O ponto de vista de L. Laâbissi, como o de muitos outros artistas, não
tem a ver nem com uma atitude melancólica perante o luto de um momen-
to notável de dança, que seria necessário fazer reviver por igual ou de ou-
tra maneira, nem com sua vertente maníaca de querer encontrar, ali, um
ideal a se atingir. A encenação não promove nem um adeus, “uma última
vez”, nem uma homenagem, muito menos um enterro coreográfico. Ao
contrário, ela instala um confronto, um face a face entre as imagens e sua
dublagem (sequência Wigman), a dublagem sem as imagens (sequência
Hoyer) e a própria atividade da dublagem que se dedica ao processo da cap-
tação (sequência Gert). Essa forma de citar é, de um lado, um trabalho de
autodidata, que não passa pela fase da aprendizagem mímica do mestre ao
aluno, como se, para sair da alienação mímica no âmbito de um curso de
dança, fosse necessário mergulhar num trabalho mímico ainda mais exi-
gente, escrutando o próprio ato de olhar; do outro lado, é algo que Laâbissi
se permite fazer sem ter a legitimidade para tanto. Por isso, o projeto foi
acolhido com resistência e até violência. Como é possível querer interpre-
tar Hexentanz de Mary Wigman, verdadeiro monumento histórico da arte
coreográfica contemporânea? Não seria o mesmo que ir ao encontro do
fracasso ou de uma decepção programada?
Voltando ao trabalho de dublagem, Mathilde Monnier, em Tempo 76
(2008), bem como em City maquette (2009), atribui a ele uma função bem
diferente, desta vez muito mais coletiva. Como, com efeito, o ato de copiar
Dança, Salvador, v. 2, n. 1, p. 87-100, jan./jun. 2013 97
pode ser um meio pedagógico e também de criação, capaz, ao mesmo tem-
po, de emancipar um bailarino de seu modelo e, assim, recriar algo coleti-
vo? Novamente, o jogo de intertextualidade e de autor-referência no campo
coreográfico, longe de se fechar numa relação especular, só pode ser consi-
derado em e por sua relação com o mundo.
Nessa perspectiva, Mathilde Monnier privilegia o fato de que o ato de
copiar a imagem de um gesto emancipa a relação de aprendizagem da liga-
ção afetiva entre mestre e aluno, ou bailarino e coreógrafo, assim como do
peso da imagem fictícia e ideal a ser atingida. Esse ato nos livra, também,
da obrigação de formar um grupo e de dançar em conjunto; ele desinibe.
Absorvido por inteiro pelo ato de imitar, o bailarino que copia não tem
como se preocupar com a imagem que, em tempo real, projeta. Ele almeja
realizar a cópia mais exata possível, preocupando-se em executar uma par-
titura visual precisa do modelo com o qual não tem nenhum laço, a não ser
o tempo imposto. Olhar e executar ao mesmo tempo impõe uma urgência
que ultrapassa o intérprete.
Também, quando um grupo inteiro procura copiar, em conjunto,
uma determinada sequência gestual previamente filmada e reproduzida
numa tela, uma surpreendente figura coletiva aparece. Longe de serem
algo uníssono, de estabelecerem uma escuta atentiva do grupo, cada in-
tegrante é, naquela circunstância, separado/liberado do outro por aquilo
mesmo que os agrupa: a imagem reproduzida na frente deles. Toma-
do pela mesma atividade, o grupo se mostra, ao mesmo tempo, unido e
profundamente fragmentado, caótico. Cada dublador organiza seu ato
de maneira particular, apresentando, para uma só referência, a mesma
quantidade de gestos diferentes que de dubladores existentes. A confu-
são de cada bailarino, em seu esforço para copiar, contribui para a confu-
são do grupo dentro dos limites da realização do trabalho de cópia. Isso
é evidente em City maquette, que compreende grupos de amadores, en-
quanto o savoir-faire dos bailarinos profissionais em Tempo 76 resulta em
outra aparência de grupo – um perfeitamente uníssono, mas que, longe
de se organizar a partir de seu interior, numa dinâmica orgânica, se orga-
niza a partir de um hors champ (algo exterior ao grupo). Paradoxalmente,
a força do grupo de bailarinos alinhados em ziguezague e de frente para
a plateia resulta da existência deste hors champ e aponta para ele. Nessa
peça, o filme a ser copiado era reproduzido nos bastidores, oculto da pla-
teia. Os bailarinos olhavam todos para a mesma direção, para algo a que
o espectador não tinha acesso. Mesmo que eles pudessem acompanhar,
sem hesitar, o movimento na tela, já que por terem ensaiado o conhe-
Dança, Salvador, v. 2, n. 1, p. 87-100, jan./jun. 2013 98
ciam, a relação tensa com a cópia permanecia, embora a tela estivesse
invisível ao público.
De certa maneira, o cinema utilizado assim pelos bailarinos permite
que a dança liberte sua transmissão da tradição unicamente oral, a qual
não tem mais o monopólio da memória das obras. O filme modificou as
condições técnicas e sociais da transmissão. Mais uma vez, o cinema se
faz, em grande escala, técnica do corpo, permitindo a circulação dos ges-
tos num regime sem autor. Ampla utopia de uma dança sem autor nem
intérprete, utopia da circulação e repetição infinita dos gestos que se entre-
copiam de suas maneiras e com seus ritmos: isso não seria também uma
definição da dança? Entre o plágio gestual generalizado, liberado da suspei-
ta da fraude, e a apropriação sempre singular, os novos gestos da tribo são
inventados. A nosso ver, Mathilde Monnier oferece uma figura coreográfi-
ca à primeira das Ficções de Borges (1951, p. 24), que afirma que “[...] a con-
cepção do plágio não existe: fica estabelecido que todas as obras são a obra
de um único autor atemporal e anônimo [...]” – autor-cidade, então. Há
tantos gestos quanto há cidades de bailarinos. As coreografias se tornam,
assim, pedaços de um vasto conjunto coletivo chamado dança e formam
um corpus que pertence a todos e no qual todos podem se reconhecer. Se a
cópia e a dublagem aparecem como o oposto da dança (copiar não é criar),
elas são, ainda assim, sua definição. No fundamento de toda criação, exis-
te um gesto precedente. Tal é o hors champ que parece organizar o Tempo
76, assim como se pode ver em relação à plasticidade do imenso rabisco de
gesso cobrindo o solo da city, traçado pela centena de bailarinos amadores
no palco de City maquette.
O conjunto dessas obras baseadas em citações, originadas de vários
protocolos de trabalho, propunha in fine um modelo não idealizado da
transmissão. A arte coreográfica é a testemunha de uma transmissão pa-
radoxal do passado: seu tratamento dos elementos do passado por meio da
imagem cinematográfica acelera, de certa forma, a possível reprodução e
circulação dessas obras, o destino ready-made do passado.
No jogo de massacre da história da dança proposto por esses artistas,
depois de eles mesmos terem experimentado o trabalho humilde e atento
da cópia de um filme, não fariam eles parte da história da arte, cujo pro-
grama já tinha sido delineado por Duchamp como uma “regressão libe-
rando algo de não regressivo, a arte assim liberada de sua história”? Um
movimento que seria adequado para se sair de uma memória oral presa
a uma deferência de conveniência em relação às diversas tradições e aos
seus donos, a fim de permitir também, talvez, uma volta dos traços ana-
Dança, Salvador, v. 2, n. 1, p. 87-100, jan./jun. 2013 99
mnésicos. Em resumo, uma ativação da imaginação histórica a partir de
materiais frequentemente julgados indignos. O “ultrapassado” opera, en-
tão, com toda sua potência, liberando matéria-prima para lançar novos de-
safios à dança contemporânea.
Referências
ARENDT, Hannah. Vies Politiques. Paris: Gallimard 1974.
BARTHES, Roland. Articles: Théorie du texte: in Encyclopaedia Universalis. Tome XV.
Paris: Galilée, 1973.
BORGES, Jorge Luis. Fictions. Paris: Gallimard, 1951.
DIDI-HUBERMAN, Georges. Phasmes. Paris: Minuit, 2000.
KRISTEVA, Julia. Séméiôtiké: recherches pour une sémanalyse. Paris: Seuil, 1969.
PARIS DANCE 8, 2009. Disponível em: <http://www.danse.univ-paris8.fr/>. Acesso
em: 20 jul. 2013.
RUTAULT, Claude. Définitions/Méthodes.
SAMOYAULT, Tiphaine. L’Intertextualité: memoire de la litterature. Paris: Armand
Colin, 2005.
SACKS, Oliver; ROSENFIELD, Israel. L’Invention de la mémoire, le cerveau, nouvelles
donnes. Paris: Flammarion, 1994.
SCHNEIDER, Michel. Voleurs de mots, essai sur le plagiat, la psychanalyse et la pensée.
Paris: Gallimard, 1985.
STERN, Daniel. Le monde interpersonnel du nourrisson. Paris: PUF, 2003.
Dança, Salvador, v. 2, n. 1, p. 87-100, jan./jun. 2013 100
Você também pode gostar
- Breves danças à margem: Explosões estéticas de dança na década de 1980 em GoiâniaNo EverandBreves danças à margem: Explosões estéticas de dança na década de 1980 em GoiâniaAinda não há avaliações
- A travessia do narrativo para o dramático no contexto educacionalNo EverandA travessia do narrativo para o dramático no contexto educacionalAinda não há avaliações
- Nos Passos da Semiótica: Um Diálogo Entre a Dança e a Escola de ParisNo EverandNos Passos da Semiótica: Um Diálogo Entre a Dança e a Escola de ParisAinda não há avaliações
- Dança ContemporâneaDocumento15 páginasDança ContemporâneaMarcos Vinicius ViniciusAinda não há avaliações
- Rumos Danca Ic Public2 Criacoes e Conexoes SiteDocumento122 páginasRumos Danca Ic Public2 Criacoes e Conexoes SiteNataliairquisAinda não há avaliações
- Percorrer a Cidade a Pé: Ações Teatrais e Performativas no Contexto UrbanoNo EverandPercorrer a Cidade a Pé: Ações Teatrais e Performativas no Contexto UrbanoAinda não há avaliações
- A poesia e os lugares de resistência na contemporaneidade: presença no espaço urbanoNo EverandA poesia e os lugares de resistência na contemporaneidade: presença no espaço urbanoAinda não há avaliações
- Teatro da Presença Social: A Arte de Fazer um Movimento VerdadeiroNo EverandTeatro da Presença Social: A Arte de Fazer um Movimento VerdadeiroAinda não há avaliações
- Meta 19 do PNE: o cenário brasileiro da gestão democrática escolar nos planos estaduais e distrital de educaçãoNo EverandMeta 19 do PNE: o cenário brasileiro da gestão democrática escolar nos planos estaduais e distrital de educaçãoAinda não há avaliações
- Corpo Intruso: uma investigação cênica, visual e conceitualNo EverandCorpo Intruso: uma investigação cênica, visual e conceitualAinda não há avaliações
- Estudos e Abordagens sobre Metodologias de Pesquisa e Ensino – Dança, Arte e EducaçãoNo EverandEstudos e Abordagens sobre Metodologias de Pesquisa e Ensino – Dança, Arte e EducaçãoAinda não há avaliações
- Performance, performatividade e identidadesNo EverandPerformance, performatividade e identidadesAinda não há avaliações
- Transcartografia: Atrizes e atores trans na cena teatralNo EverandTranscartografia: Atrizes e atores trans na cena teatralAinda não há avaliações
- Festas, dramaturgias e teatros negros na cidade de São Paulo: OlaegbékizombaNo EverandFestas, dramaturgias e teatros negros na cidade de São Paulo: OlaegbékizombaAinda não há avaliações
- Do Texto Teatral Para o Balé: Transmutação de Linguagens em Romeu e JulietaNo EverandDo Texto Teatral Para o Balé: Transmutação de Linguagens em Romeu e JulietaAinda não há avaliações
- Fantasmas Modernos Montagem Outra Heranca v1 RIDocumento428 páginasFantasmas Modernos Montagem Outra Heranca v1 RICaio Largou ZuckerbergAinda não há avaliações
- Acoes Artisticas Na Educacao-A Cena Expandida em Cenario Expandido-Paulina Maria CaonDocumento19 páginasAcoes Artisticas Na Educacao-A Cena Expandida em Cenario Expandido-Paulina Maria CaonTeatro do IrruptoAinda não há avaliações
- Pax Neoliberalia: Mulheres e a reorganização global da violênciaNo EverandPax Neoliberalia: Mulheres e a reorganização global da violênciaAinda não há avaliações
- A Mulher no Discurso da Publicidade e os Efeitos de Sentido para a Promoção do CapitalNo EverandA Mulher no Discurso da Publicidade e os Efeitos de Sentido para a Promoção do CapitalAinda não há avaliações
- Raízes e Sementes: Mestres e Caminhos do Teatro na América LatinaNo EverandRaízes e Sementes: Mestres e Caminhos do Teatro na América LatinaAinda não há avaliações
- Programa FLS5274 - Escrever Com A Imagem 1o Semestre 2021Documento12 páginasPrograma FLS5274 - Escrever Com A Imagem 1o Semestre 2021Mariana C. A. Petroni100% (1)
- Ariano Suassuna e seu mais nobre auto: uma proposta de análise bakhtiniana do Auto da Compadecida de Ariano Suassuna e sua versão televisivaNo EverandAriano Suassuna e seu mais nobre auto: uma proposta de análise bakhtiniana do Auto da Compadecida de Ariano Suassuna e sua versão televisivaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- O CURRÍCULO COMO MÁQUINA ABSTRATA DE ROSTIDADESNo EverandO CURRÍCULO COMO MÁQUINA ABSTRATA DE ROSTIDADESAinda não há avaliações
- Atuação teatral e ensino de língua estrangeiraNo EverandAtuação teatral e ensino de língua estrangeiraAinda não há avaliações
- O Ativismo Juvenil como Condição para Concretização das Políticas Públicas: de Saúde no Espaço Público LocalNo EverandO Ativismo Juvenil como Condição para Concretização das Políticas Públicas: de Saúde no Espaço Público LocalAinda não há avaliações
- Teatro e acessibilidade: mediações e práticas com atores e espectadores com deficiência visualNo EverandTeatro e acessibilidade: mediações e práticas com atores e espectadores com deficiência visualAinda não há avaliações
- Asfixia [trecho]: Capítulos 1 a 3 de RESPIRAÇÃO – Caos e poesiaNo EverandAsfixia [trecho]: Capítulos 1 a 3 de RESPIRAÇÃO – Caos e poesiaAinda não há avaliações
- Nos bastidores do cinema: A trajetória do papel às telas no filme Primo BasílioNo EverandNos bastidores do cinema: A trajetória do papel às telas no filme Primo BasílioAinda não há avaliações
- Arte negativa para um país negativo: Antonio Dias entre o Brasil e a EuropaNo EverandArte negativa para um país negativo: Antonio Dias entre o Brasil e a EuropaAinda não há avaliações
- Dodi Leal Revista Sala Preta PDFDocumento18 páginasDodi Leal Revista Sala Preta PDFMayra MontenegroAinda não há avaliações
- O Corpomente em Ação - Sandra MeyerDocumento7 páginasO Corpomente em Ação - Sandra MeyerMarcelo ÁdamsAinda não há avaliações
- Autoria: a criança e a escrita de histórias inventadasNo EverandAutoria: a criança e a escrita de histórias inventadasAinda não há avaliações
- Pereira, Sayonara Sousa - Rastros Do Tanztheater No Processo Criativo de ES-BOÇO PDFDocumento216 páginasPereira, Sayonara Sousa - Rastros Do Tanztheater No Processo Criativo de ES-BOÇO PDFDavidson XavierAinda não há avaliações
- Cassiano Sydow Quilici - O Extemporaneo e As Fronteiras Do ContemporaneoDocumento4 páginasCassiano Sydow Quilici - O Extemporaneo e As Fronteiras Do ContemporaneoBruno Melo MartinsAinda não há avaliações
- A palavra como território: Antologia dramatúrgica do teatro hip-hopNo EverandA palavra como território: Antologia dramatúrgica do teatro hip-hopAinda não há avaliações
- Cavalo Louco Nº 14 - Revista de TeatroDocumento60 páginasCavalo Louco Nº 14 - Revista de TeatroMarta Haas100% (1)
- Discursos críticos através da poética visual de Márcia X.: 2ª ediçãoNo EverandDiscursos críticos através da poética visual de Márcia X.: 2ª ediçãoAinda não há avaliações
- Para Além dos Muros da Escola: Memória Crítica de Práticas e Experiências PedagógicasNo EverandPara Além dos Muros da Escola: Memória Crítica de Práticas e Experiências PedagógicasAinda não há avaliações
- Martins - 2011 - o Som Ouvido, Visto e SentidoDocumento149 páginasMartins - 2011 - o Som Ouvido, Visto e SentidoVicente ReisAinda não há avaliações
- Fotografias de Professoras: Uma Trajetória Visual do Magistério em Escolas Municipais do Rio de Janeiro no Final do Século XIX e Início do Século XXNo EverandFotografias de Professoras: Uma Trajetória Visual do Magistério em Escolas Municipais do Rio de Janeiro no Final do Século XIX e Início do Século XXAinda não há avaliações
- Mapa A ARTE DA PERFORMANCE COMO ARTE DE ENVELHECER - Marcelo AsthDocumento209 páginasMapa A ARTE DA PERFORMANCE COMO ARTE DE ENVELHECER - Marcelo AsthMarcelo AsthAinda não há avaliações
- Discursos sobre a identidade de sujeitos trans em textos online: reflexões sob uma perspectiva dialógica da linguagemNo EverandDiscursos sobre a identidade de sujeitos trans em textos online: reflexões sob uma perspectiva dialógica da linguagemAinda não há avaliações
- Uni LeaoDocumento25 páginasUni LeaoThiago GomezAinda não há avaliações
- PPGL Cronograma de Prazos DiscentesDocumento2 páginasPPGL Cronograma de Prazos DiscentesThiago GomezAinda não há avaliações
- MOZDZENSKI, Leonardo. Intertextualidade Verbo-Visual - Como Os Textos Multissemióticos DialogamDocumento25 páginasMOZDZENSKI, Leonardo. Intertextualidade Verbo-Visual - Como Os Textos Multissemióticos DialogamThiago GomezAinda não há avaliações
- Souriauetienne Ocuboeaesfera LowDocumento15 páginasSouriauetienne Ocuboeaesfera LowThiago GomezAinda não há avaliações
- Comprovante2021 10 05 - 191230Documento1 páginaComprovante2021 10 05 - 191230Thiago GomezAinda não há avaliações
- Congresso Internacional Do MedoDocumento1 páginaCongresso Internacional Do MedoThiago GomezAinda não há avaliações
- David Ives - Brasília e ClaroDocumento15 páginasDavid Ives - Brasília e ClaroThiago GomezAinda não há avaliações
- BRAIT, Beth. Olhar e Ler - Verbo-Visualidade em Perspectiva DialógicaDocumento23 páginasBRAIT, Beth. Olhar e Ler - Verbo-Visualidade em Perspectiva DialógicaThiago GomezAinda não há avaliações
- SANTOS, Márcio Silveira Dos. Aplicando o Modelo Actancial em O Boi Dos Chifres de Ouro, de Ivo Bender PDFDocumento10 páginasSANTOS, Márcio Silveira Dos. Aplicando o Modelo Actancial em O Boi Dos Chifres de Ouro, de Ivo Bender PDFThiago GomezAinda não há avaliações
- GRILLO, Sheila Vieira de Camargo - Dimensão Verbo-Visual de Enunciados de Scientific American BrasilDocumento15 páginasGRILLO, Sheila Vieira de Camargo - Dimensão Verbo-Visual de Enunciados de Scientific American BrasilThiago GomezAinda não há avaliações
- LARCHER, Lucas. O Diário de Bordo e Suas Potencialidades PedagógicasDocumento12 páginasLARCHER, Lucas. O Diário de Bordo e Suas Potencialidades PedagógicasThiago GomezAinda não há avaliações
- Esque TeDocumento6 páginasEsque TeThiago GomezAinda não há avaliações
- ESTRUTURADocumento3 páginasESTRUTURAThiago GomezAinda não há avaliações
- A Questão Que Se Coloca - Antonin ArtaudDocumento1 páginaA Questão Que Se Coloca - Antonin ArtaudThiago Gomez100% (1)
- BORGES, Jorge Luis. As Mil e Uma Noites. in - Borges Oral & Sete NoitesDocumento11 páginasBORGES, Jorge Luis. As Mil e Uma Noites. in - Borges Oral & Sete NoitesThiago GomezAinda não há avaliações
- Relatório - Ambientação - Residência Pedagógica TeatroDocumento3 páginasRelatório - Ambientação - Residência Pedagógica TeatroThiago Gomez100% (1)
- Anexo 1 - Ficha de InscriçãoDocumento1 páginaAnexo 1 - Ficha de InscriçãoThiago GomezAinda não há avaliações
- PROVIDELLO, Guilherme Gonzaga Duarte. YASUI, Silvio. A Loucura em Foucault - Arte e Loucura, Loucura e Desrazão PDFDocumento15 páginasPROVIDELLO, Guilherme Gonzaga Duarte. YASUI, Silvio. A Loucura em Foucault - Arte e Loucura, Loucura e Desrazão PDFThiago GomezAinda não há avaliações
- PINEAU, Elyse Lamm. Nos Cruzamentos Entre A Performance e A Pedagogia - Uma Revisão Prospectiva PDFDocumento26 páginasPINEAU, Elyse Lamm. Nos Cruzamentos Entre A Performance e A Pedagogia - Uma Revisão Prospectiva PDFThiago GomezAinda não há avaliações
- Apostilaensinomdiodanca 141004124051 Conversion Gate01 PDFDocumento10 páginasApostilaensinomdiodanca 141004124051 Conversion Gate01 PDFLuciane AvilaAinda não há avaliações
- 2016 LarissaFerreiraRegisBarbosa PDFDocumento396 páginas2016 LarissaFerreiraRegisBarbosa PDFThanandraPSRochaFerreiraAinda não há avaliações
- Os Saberes Musicais e A EscolaDocumento12 páginasOs Saberes Musicais e A EscolaFábio Du KiddyAinda não há avaliações
- Ballet - TerminologiaDocumento8 páginasBallet - TerminologiaRodrigo GarciaAinda não há avaliações
- Bloco de Avaliações - 1º Ano - AgostoDocumento13 páginasBloco de Avaliações - 1º Ano - AgostoJoaquina PereiraAinda não há avaliações
- O Corpo Negro e o Estereótipo Da BailarinaDocumento32 páginasO Corpo Negro e o Estereótipo Da BailarinapsicamucattoAinda não há avaliações
- ArtistasDocumento8 páginasArtistasEduardo SimorAinda não há avaliações
- Kinografia (Texto para DançaEmFoco)Documento13 páginasKinografia (Texto para DançaEmFoco)Alexandre VerasAinda não há avaliações
- Construcao Coreografica e Seus ElementosDocumento14 páginasConstrucao Coreografica e Seus ElementosMarcelo BenettiAinda não há avaliações
- AGUIAR, Joaquim Alves De. Formação TardiaDocumento3 páginasAGUIAR, Joaquim Alves De. Formação TardiaFabiana AmaralAinda não há avaliações
- Apostila Baby Class Modulo 1 e 2Documento58 páginasApostila Baby Class Modulo 1 e 2Fabiana Cristina Neves Silva100% (1)
- Dançar Pra DeusDocumento19 páginasDançar Pra DeusKatielle MariaAinda não há avaliações
- Caderno de Leitura AbrilDocumento16 páginasCaderno de Leitura AbrilBellyAinda não há avaliações
- Portuguese Grades45CourseGuidelinesVr1Dec13PTPRDocumento22 páginasPortuguese Grades45CourseGuidelinesVr1Dec13PTPRmatildesmatos2018Ainda não há avaliações
- Dança FrancesaDocumento8 páginasDança FrancesaKevin CarvalhoAinda não há avaliações
- Revisão para Prova 2º BimestreDocumento2 páginasRevisão para Prova 2º BimestreHACK FAKEAinda não há avaliações
- 1 4947489011422724650Documento339 páginas1 4947489011422724650Leticia Santos100% (6)
- DANÇADocumento2 páginasDANÇAHudson BragaAinda não há avaliações
- História Da Dança PDFDocumento142 páginasHistória Da Dança PDFEzequiel Martins100% (1)
- BailarinasDocumento3 páginasBailarinasGabriely SantosAinda não há avaliações
- ATIVIDADES COMPLEMENTARES 3º ANO CertaDocumento13 páginasATIVIDADES COMPLEMENTARES 3º ANO CertaStephanie FlauzinoAinda não há avaliações
- Artigo Benoni - Tammy Versão PDFDocumento9 páginasArtigo Benoni - Tammy Versão PDFTammy Scarlet Gehlen SignoreAinda não há avaliações
- Catálogo Baby Class 2013Documento25 páginasCatálogo Baby Class 2013diegods87Ainda não há avaliações
- Apostila de BaléDocumento39 páginasApostila de BaléSara B. CabralAinda não há avaliações
- Jazz - Trabalho EFDocumento10 páginasJazz - Trabalho EFVasco Sousa100% (1)
- Ballet e EconomiaDocumento127 páginasBallet e EconomiaThanandraPSRochaFerreiraAinda não há avaliações
- Desenhar A DançaDocumento130 páginasDesenhar A DançaLuciana BortolettoAinda não há avaliações
- Jogos Corporais - Uma Proposta de Dança No Ensino Fundamental PDFDocumento55 páginasJogos Corporais - Uma Proposta de Dança No Ensino Fundamental PDFLuana AraujoAinda não há avaliações
- Expressão Do Corpo e MusicalidadeDocumento130 páginasExpressão Do Corpo e MusicalidadePós-Graduações UNIASSELVIAinda não há avaliações
- Plano de Ensino 3°ano Ensino Medio Artes FinalizadoDocumento27 páginasPlano de Ensino 3°ano Ensino Medio Artes FinalizadoJosé Nilson Rosa100% (2)
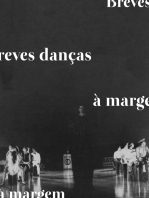

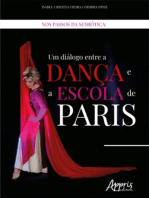






























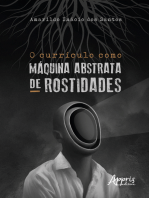


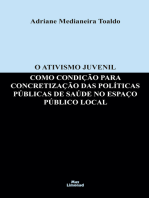




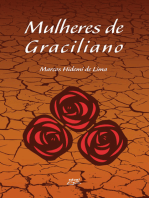

![Asfixia [trecho]: Capítulos 1 a 3 de RESPIRAÇÃO – Caos e poesia](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/490556966/149x198/931ee78f8b/1668676844?v=1)
































































