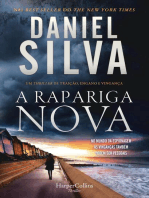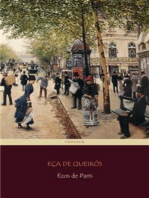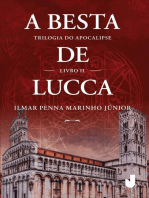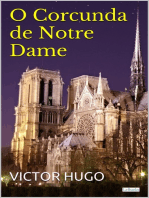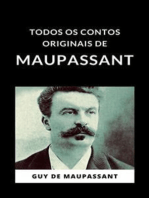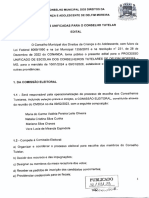Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Bicicleta Que Fugiu Dos Alema - Domingos Amaral
Enviado por
Edison Azevedo0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
43 visualizações274 páginasRomance. Segunda Guerra Mundial. Aventura.
Título original
A Bicicleta que Fugiu dos Alema - Domingos Amaral
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoRomance. Segunda Guerra Mundial. Aventura.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
43 visualizações274 páginasA Bicicleta Que Fugiu Dos Alema - Domingos Amaral
Enviado por
Edison AzevedoRomance. Segunda Guerra Mundial. Aventura.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 274
Ficha Técnica
Título: A Bicicleta que Fugiu dos Alemães
Autor: Domingos Amaral
Editora: Marta Ramires
Revisão: Ayala Monteiro
Capa: Maria Manuel Lacerda/Oficina do Livro, Lda.
ISBN: 9789897801259
CASA DAS LETRAS
uma marca da Oficina do Livro – Sociedade Editorial, Lda.
uma empresa do grupo LeYa
Rua Cidade de Córdova, n.º 2
2610-038 Alfragide – Portugal
Tel. (+351) 21 427 22 00
Fax. (+351) 21 427 22 01
© Domingos Amaral, 2019
Todos os direitos reservados de acordo com a legislação em vigor
E-mail: info@casadasletras.leya.com
www.casadasletras.leya.com
www.leya.pt
Esta edição segue a grafia do novo acordo ortográfico.
DOMINGOS AMARAL
A BICICLETA
QUE FUGIU
DOS ALEMÃES
Para o meu tio José Sarmento de Matos,
com muita saudade.
PARTE I
ADEUS PARIS
1
Paris, 3 de junho de 1940
A bicicleta que fugiu dos alemães era uma Hirondelle e pertencia
à minha prima Carol, que nela pedalava, feliz, pelas ruas de Paris,
onde estudou até àquela fatídica noite de junho de 1940, em que
todos os diabos do mundo se soltaram.
Montada na Hirondelle, rumava às aulas na Sorbonne, circulava
pelos boulevards e regressava à Residencial de Saint-Sulpice, perto
dos Jardins do Luxemburgo, onde alugara um quarto.
«Jack, em Paris eu voava na Hirondelle», garantiu-me Carol
tempos depois, acrescentando que aquela bicicleta, apesar de em
segunda mão, era já uma componente essencial da sua identidade
e não se imaginava sem ela. Por isso, quando teve de fugir da
guerra, não a deixou para trás e foi nela que atravessou a França e
chegou a Portugal.
Embora indesejada, esta vibrante aventura começou à vigésima
terceira hora do dia 3 de junho, quando o ribombar longínquo das
primeiras bombas alemãs a acordou. Agitada, levantou-se, abriu a
janela e viu os clarões alaranjados das explosões, recordando-se
imediatamente da profecia fatídica de Madre Mary, a superiora do
Saint-Sulpice, que nessa mesma tarde proclamara: «Esta noite vão
cair bombas em Paris.»
Aí estavam elas, a sacudir a terra, algures em Noisy-le-Sec, nos
arredores da Cidade-Luz, contrariando as previsões da maioria dos
parisienses, ainda convencidos de que o exército francês não seria
derrotado. Só uma minoria esclarecida, onde se incluía a Madre,
sabia perfeitamente que Rommel entrara pelas Ardenas como faca
quente em manteiga. Os jornais chamavam-lhe guerra-relâmpago,
em alemão blitzkrieg, uma palavra agora sempre omnipresente nas
conversas, qual bordão enervante que substituía o sempre negado
terror dos franceses.
Carol escutou passos apressados, a descer as escadas. Alguém
assustado? Também podia ser fome. Na Residencial de Saint-
Sulpice, a essa hora a cozinha encontrava-se fechada, mas Madre
Mary ordenara que na copa houvesse sempre pão, água, bolachas
e um cesto de fruta, entre as dez da noite e as seis da manhã, que
era a hora em que as noviças inauguravam a lide diária.
A minha prima levantou-se, vestiu o roupão e saiu para o
corredor. Quem por ali passara só podia ser mulher, pois não eram
admitidos homens naquela hospedaria. Destinada a estudantes
permanentes ou viajantes ocasionais, ficava junto ao convento e à
igreja com o mesmo nome, famosa pelas suas torres desiguais. Os
três edifícios debruçavam-se sobre um largo pátio comum, cujo
portão abria para uma pequena rua, transversal ao Boulevard Saint-
Germain.
Quando, já em Lisboa, recordou estes acontecimentos, Carol
contou-me que vivera ali desde que fora estudar para Paris, em
setembro de 1938. Na primeira semana, tinha dormido em casa de
uma portuguesa, mas rapidamente percebera que estava
demasiado longe da Sorbonne. Sara, sua amiga e colega de turma,
sugerira então a Residencial de Saint-Sulpice, que parecera perfeita
a Carol, não tanto pelo quarto, pequeno e austero, e muito menos
pelo colchão, de palha e duro, mas por duas outras razões.
Primeiro, podia ir a pedalar para a universidade e a rotina que mais
amava era guiar a Hirondelle, uma bicicleta com nome de pássaro
em cima da qual se sentia livre e plena. Segundo, porque gostara
instintivamente de Madre Mary, uma senhora amável e serena, o
oposto das madres superioras frias e desagradáveis a que a
literatura anticlerical do século XIX tantas vezes recorria.
Portanto, sentia-se em casa e não teve receio de avançar na
penumbra e descer as escadas para o rés-do-chão, onde, a
caminho da copa, foi surpreendida por um chamamento imperativo.
– Carrô!
Ao voltar-se, a minha prima viu a ponta acesa de um charuto.
Era Madre Mary. Nascida há sessenta e quatro anos em Montréal,
no Canadá francês, chamava-se Mary em vez de Marie, uma
imposição do pai anglófilo e autoritário, que a mãe francófona
aceitara antes de falecer devido a complicações após o parto. Esta
orfandade materna da Madre, bem como a má relação com o pai,
gerou em Carol um claro efeito de identificação, pois também se
dava mal com o progenitor e perdera a mãe três anos antes.
– Não consegues dormir? – perguntou Madre Mary.
As olheiras cavadas da religiosa abafavam os seus famosos
olhos verdes e beliscavam a harmonia de um conjunto ternurento,
composto por uma cara arredondada, umas bochechas fofas e uns
lábios grossos.
– Vem comigo – ordenou.
Mal entraram no gabinete dela, a minha prima reparou nas
caixas de papelão abertas, idênticas às que se enchiam em tempo
de mudanças. Inquieta, viu-as repletas de livros, mas nada
perguntou. A freira dirigiu-se à secretária e desdobrou um mapa da
Europa, enquanto dizia ser impossível manter o convento a
funcionar, pois as bombas alemãs iam lançar o pavor nas freiras.
– Já não queriam ficar em Paris, agora será impossível.
Carol sentiu uma dor na barriga ao escutar o anúncio de que em
breve iriam evacuar Saint-Sulpice. Permanecer seria um perigo,
declarou a Madre, debruçando-se sobre o mapa e pousando o
indicador da mão direita na Holanda. Após uma curta passa no
charuto, deslizou a ponta da unha e recordou o avanço dos panzers
nazis, iniciado com a invasão dos Países Baixos e complementado
com a da Bélgica e, por fim, a de França.
– A travessia das Ardenas foi uma manobra de mestre –
constatou Madre Mary. A vertiginosa estratégia alemã encurralara
os exércitos britânicos e franceses, obrigados a recuar até ao canal
da Mancha. – Estão cercados em Dunquerque há semanas, e os
ingleses tentam resgatar o maior número possível de soldados.
Churchill, o novo primeiro-ministro do Reino Unido, com quem a
superiora de Saint-Sulpice sentia afinidade por gostarem ambos de
charutos cubanos, requisitara todas as embarcações em condições
de navegar para salvar as suas desesperadas tropas. Milhares de
soldados tinham regressado a Inglaterra em barcos de recreio ou de
pescadores, mas muitos haviam sido mortos nas praias.
– Uma desgraça e uma humilhação! – protestou a religiosa.
Nunca esperara uma vitória nazi tão fácil e garantiu, desolada,
que Dunquerque iria cair no dia seguinte. Bem relacionada com o
que restava do frágil Governo da França, recebera pelo telefone
informações fiáveis: o exército e a armada franceses, esgotados e
desmoralizados, iriam capitular.
– Resta-nos a Linha Maginot.
Os dedos de Madre Mary sobrevoaram o mapa até pousarem na
fronteira entre a França e a Alemanha, onde, anos antes, nascera
uma linha de fortificações destinada a impedir a invasão nazi.
Milhares de canhões franceses apontavam ao inimigo e a
propaganda destilada pelos jornais de Paris garantia uma defesa
inexpugnável da pátria, mas a experiente Madre duvidava.
– Os nazis estão parados em frente da Maginot há semanas…
Madre Mary nunca se fiara na drôle de guerre, os meses de
espera passiva por combates que não surgiam, geradora nos
gauleses da sensação tola de que aquela farsa jamais se tornaria
uma guerra real. Porém, Hitler não brincava aos discursos.
– Vão atingir a Maginot onde menos esperamos – intuiu a Madre
superiora de Saint-Sulpice.
Após nova baforada no charuto, explicou a logística da partida, já
impecavelmente organizada, como, aliás, tudo na sua longa carreira
naquela irmandade internacional, iniciada na ilha Martinica, onde
ganhara alguns hábitos peculiares, como o gosto pela sesta, pelo
rum e pelos charutos cubanos; e depois continuada na Argélia, país
onde provara a sua competência mais uma década até lhe ser
oferecido o posto mais elevado da congregação, a direção do Saint-
Sulpice, em Paris, um merecido prémio para quem fora no colégio
uma «menina de ótimo» e durante a carreira uma «irmã completa»,
que tanto sabia mandar como obedecer.
No presente e sob a sua supervisão, além de um vasto programa
de caridade, encontravam-se um convento habitado por uma
centena de religiosas, a residencial onde Carol dormia e uma
famosa igreja parisiense, diariamente aberta ao público.
– A maioria das freiras e das noviças vai para o convento de
Clermont-Ferrand – informou a Madre.
– Não fica ninguém em Paris? – angustiou-se Carol.
– O Saint-Sulpice será encerrado. Tens de regressar a Portugal.
– Não quero! – protestou a minha prima.
Madre Mary pegou-lhe na mão com a ternura do costume.
Conhecia os factos: a morte da mãe, a zanga com o pai, o curso
que ia a meio, as amizades parisienses. Porém, repetiu, não poderia
permanecer em Paris.
– Querida Carrô, em Clermont-Ferrand o convento não é grande.
Mas arranjo-te um quarto na cidade.
Embora com enorme relutância, Carol lá prometeu partir. Já de
saída, lembrou-se da Hirondelle.
– Como irão para lá?
Nas Caraíbas, Madre Mary tirara a carta de condução e em Paris
guiava uma pequena camioneta, propriedade do Saint-Sulpice, que
levaria as últimas freiras, enquanto as outras partiriam de comboio,
algumas já no dia seguinte.
– E a minha bicicleta? – perguntou Carol.
Não admitia deixar a Hirondelle. Embora comprada em segunda
mão, era um modelo de topo e fora cara. Com um selim Terry, aros
e para-lamas de alumínio, um travão dianteiro u-Brake e um travão
traseiro Cantlever, a super Hirondelle exibia uma característica
única que a celebrizava: o sistema Retro-Directe. A originalidade
permitia que se pedalasse para a frente quando o terreno era plano,
invertendo-se a situação nas subidas, onde se pedalava para trás, o
que desmultiplicava a força nos pedais. A tudo isso, havia a juntar
uma pintura negra sem um risco e dois resistentes pneus Michelin
650, que venciam qualquer piso! O orgulho da minha prima.
Conhecedora daquela forte estima, Madre Mary sugeriu-lhe que
levasse a Hirondelle no comboio, podia ir à estação saber quanto
custaria o transporte. De caminho, informava-se sobre o preço do
bilhete para Portugal.
– Mais vale teres essa possibilidade preparada, isto pode ser
pior do que imaginamos – rematou ela, fazendo com que a dor de
barriga de Carol se agravasse.
2
Paris, 3 de junho de 1940
Ainda abalada pelas novidades, Carol, quando entrou na copa,
encontrou uma mulher sentada a uma mesa onde repousava uma
também solitária garrafa de whisky.
Polly, uma americana de braços polpudos, conduzia uma
ambulância ao serviço da Cruz Vermelha. Meses antes, embarcara
uma carrinha Ford num barco, em Boston, e rumara à Europa, para
ser «útil na guerra». Numa oficina de Antuérpia, mandara pintar o
veículo de branco, com uma cruz vermelha em cada porta lateral.
Depois, partira em missão, transportando feridos entre os hospitais
e uma frente de batalha sempre em recuo.
Estivera algumas semanas na Holanda e na Bélgica, mas
acabara no Norte de França, empurrada pelo rápido avanço dos
alemães. Dez dias antes, rumara a Paris com cinco soldados
ingleses na ambulância. Dois tinham morrido durante a viagem e
entregara os outros num hospital parisiense, perto do Parque
Monceau, mas desde essa altura vivia entediada por não poder
regressar a Dunquerque, cidade agora totalmente cercada pelos
alemães. Sem alento ou distração, de dia cirandava sem destino
pelos boulevards de Paris e à noite visitava os night-clubs mais na
moda, o L´Etoile de Kléber ou o Le Gerny´s, em busca de
companhia masculina.
– Vai um copo? – perguntou. O desafio era subversivo, a garrafa
fora trazida às escondidas, Madre Mary não levantara a proibição do
álcool na residencial. – À saúde deles – concluiu a americana.
Certamente devido à sua nacionalidade – os Estados Unidos
tinham ainda uma postura neutral em 1940 –, nunca usava a palavra
«nazis» para descrever os alemães, como se não os quisesse
ofender.
– Achas que vão invadir Paris?
– Sim, Cárol – respondeu Polly, num tom condescendente.
Tanto os ingleses como os americanos chamavam Cárol, com
acento no «a», à minha prima. Quanto aos franceses, uns
acentuavam o «o» tratando-a por Caról, outros usavam o Caroline,
mas só Madre Mary aplicava o simpático Carrô.
– Falta pouco para vermos os panzers às voltas ao Arco do
Triunfo – vaticinou a americana. A cabeleira ruiva dava-lhe uma aura
original, mas era nos olhos castanhos brilhantes, e sobretudo no seu
tom de voz imperativo, que morava a confiança de alguém que
perorava como se possuísse elevada experiência militar, só porque
estivera algumas semanas próxima de balas e de bombas. – Melhor
assim, pode ser que apareçam uns alemães giros! – Os homens
eram o tema preferido de Polly. Aos trinta e quatro anos, e já com
um divórcio no currículo, especulava constantemente sobre as
capacidades sexuais «deles», mesmo dos feridos que transportava
na ambulância, oferecendo aos ouvintes pérolas como: «olha-me o
enchumaço naquelas calças!»; ou «este não a levanta nem com
uma roldana». A Carol, a cínica e lasciva americana lembrava
algumas personagens femininas de Oscar Wilde. – Com os
franceses não me safo! – acrescentou Polly.
Duas noites antes, atrelara-se a um Paul qualquer, que lhe
parecera entusiasmante, no final de um jantar bem regado a tinto,
mas que na véspera já descrevera como uma valente deceção, pois
brindara-a com uma incómoda falta de vigor sexual, uma arreliante
maldição que a americana generalizava agora a todos os machos
gauleses.
– Estão tolhidos de medo, rien de rien! – garantira.
Uma pequena desilusão privada chegava-lhe para retirar
conclusões tremendas sobre a masculinidade de um povo.
Curiosamente, o inverso também era verdadeiro, pois Polly
descrevia os holandeses como firmes, só porque dormira com dois
durante as semanas em que soara a sirene nos Países Baixos.
– E tu, Cárol, ainda és virgem? – perguntou de súbito.
A surpresa não residia no tema, mas no objeto da curiosidade,
pois Polly nunca se interessara pela minha prima. Sabia que
nascera em Portugal, pois alguém lho tinha dito, mas só comentara
que nunca fora a Lisboa, como se isso é que fosse relevante.
Completamente egocêntrica, Polly colocava sempre um repetitivo eu
na sua habitual cascata de frases. Eu isto, eu aquilo, eu estive lá, eu
é que sei. Falava na sua intensa experiência de guerra, babando
orgulho aventureiro; no divórcio trapalhão, embora o marido a
tivesse deixado «muito bem»; ou nos muitos parceiros íntimos que
tivera. Por isso, espantada com aquele interesse, Carol demorou a
reagir, o que acabou por pagar com uma provocação desnecessária.
– Não tens a certeza? – gozou Polly.
Tanta superioridade sexual espicaçou o orgulho da minha prima,
que descreveu à americana a sua primeira vez, com um finalista
chamado Yves, no verão de 1939. Após uma festa, enfiara-se no
quarto alugado do rapaz, mas desse dia supostamente épico da sua
vida de mulher, apenas recordava detalhes laterais, como o cheiro
acre das axilas de Yves ou um relógio de cuco pendurado na
parede, onde um enervante pássaro de madeira abria de rompante
uma portinhola. Ouvira três cucus à entrada e quatro à saída,
sessenta minutos fora o tempo que estivera com Yves, que nunca
mais vira, pois ele não regressara em setembro.
– O atual chama-se Jean-Luc.
Saltou para o segundo capítulo da sua vida amorosa sem pausa,
não fosse Polly interrompê-la. Namorava desde abril com um jovem
moreno, de cabelo encaracolado e pele esquálida. Uma vez por
mês, passavam a tarde juntos em casa dele, onde vivia sozinho,
pois os pais tinham partido para Lyon, a terra de origem.
Jean-Luc era atencioso e julgo que naquele dia a minha prima
ainda gostava dele, embora não tivessem muitas afinidades. O
francês estudava medicina, ela literatura; Jean-Luc odiava
mexilhões, Carol adorava-os; o rapaz preferia o teatro, a minha
prima, o cinema; ele nunca dançava, ela não perdia uma
oportunidade. Avisadamente, jamais haviam dito um ao outro que se
amavam. Não sendo uma paixão, eram, no entanto, uma companhia
mútua agradável, pelo menos até junho, mês em que Jean-Luc se
juntaria à família em Lyon, enquanto ela permaneceria, feliz, em
Paris.
– Se os alemães deixarem – rematou Carol.
– Cuidado, não fiques grávida! – alertou Polly.
A minha prima preparava-se para a tranquilizar, a mãe ensinara-
a antes de morrer e Jean-Luc usava uma proteção de borracha,
desagradável, mas útil. Contudo, não teve tempo, pois a americana
desatou a relembrar os cinco anos em que tentara engravidar sem
sucesso. Não por falta de tentativas, garantiu, faziam-no três vezes
por semana! O problema era o marido, pois a ela vinha-lhe o sangue
mensalmente, nunca percebera tal mistério.
– Devia casar-me outra vez! – exclamou.
Ao contrário do que postulava a opinião popular, defendeu que
se fazia mais sexo no matrimónio do que fora dele. A força do hábito
empurrava os corpos na direção e com uma regularidade certas.
Com o marido era às terças, quintas e sábados, dia em que Polly
ficava por cima, a posição em que sentia mais prazer. Só no último
ano haviam diminuído o ritmo dos encontros, passando a fazê-lo
apenas ao sábado à noite e, mesmo assim, ela precisava já de estar
muito bebida para gostar.
– No hospital, há um inglês que me deixa louca! – informou Polly
de rompante. O terceiro sobrevivente que trouxera de Dunquerque,
um piloto cujo avião se despenhara na Bélgica semanas antes,
mexia-lhe com as entranhas. – É careca e lindo. – O que ela mais
gostava em Rover, nome do aviador, eram as mãos. Ou melhor, a
mão esquerda, pois a direita havia sido amputada pelos médicos,
tão graves eram os ferimentos. – Mas ao safado chega-lhe uma!
Tem uns dedos longos, dá vontade de os meter dentro da nossa
camisa!
Carol riu-se, imaginando o pobre Rover a aturar as visitas
daquela desvairada, que se enervava com o inexplicável
desinteresse dele. Seguramente o homem «avariara a cabeça»,
pois permanecia melancólico, calado e apático. Nunca sorria a Polly,
num desdém masculino que funcionava como uma vitamina
afrodisíaca.
– Ontem quase saltei para cima dele! – confessou a americana.
Dito isto, fez uma careta enojada, dizendo que antes teria de afastar
um desagradável gato.
– O inglês trouxe um gato no avião? – surpreendeu-se Carol.
Era um felino velho e cego, um cliente antigo e permanente do
hospital, que Rover adotara, dando-lhe um pratinho de leite diário e
habituando o animal a trepar para a cama, onde arruinava o
ambiente de sedução promovido por Polly.
– Incomoda-te um gato cego?
A outra ignorou a pergunta de Carol e questionou-se
filosoficamente: – O que há de errado com Rover?
O silêncio solitário do inglês, a anemia derrotada que devia
morar-lhe no coração, a humilhação dolorosa por ter perdido uma
parte útil do corpo, a sensação de impotência por não poder voltar
ao combate, ou apenas as saudades da família e dos colegas, nada
disso passava pela cabeça de Polly. O que a enervava era um
enigma primário: como era possível Rover não a desejar?
– Talvez seja casado – sugeriu Carol.
A americana abanou a cabeça com solenidade: o piloto não tinha
esposa, dissera-o à chegada ao hospital, ao ser submetido a um
breve questionário pessoal.
– Se calhar tem uma namorada em Inglaterra, por quem está
apaixonado – adiantou a minha prima, romântica.
Irritada, após um gole súbito de whisky, Polly sentenciou: –
Nenhum namoro justifica tanta abstinência!
Rover até podia amar outra, mas essa não estava ao pé dele,
como ela! Que mal tinha um romance em Paris? Porque era tão
desprovido de desejo? Zangada, levantou-se de súbito, agarrou na
garrafa pelo gargalo e explodiu: – Preciso de um homem! – informou
Carol de que ia a um night-club e perguntou: – Posso levar a tua
bicicleta?
A minha prima empalideceu.
– Há bombas lá fora...
Furibunda, Polly virou-lhe as costas.
– Nesse caso, vou de ambulância!
Aliviada, Carol respirou fundo. Jamais colocaria a Hirondelle nas
mãos daquela endiabrada criatura!
3
Paris, 4 de junho de 1940
Nessa manhã, enquanto tomava o pequeno-almoço, na cozinha,
Carol notou a enorme agitação das noviças, que cochichavam pelos
cantos e lançavam olhares alarmados aos armários. Como Madre
Mary já lhe explicara a causa do alarido, bebeu o leite, agarrou
numa baguete, barrou o interior com manteiga e saiu a trote, a
caminho da porta da residencial.
No pátio, montou na Hirondelle, depois de envolver os livros
numa cinta protetora e de os pousar no cesto, à frente do guiador.
Começou a pedalar e avançou para o Boulevard Saint-Germain,
onde virou à direita, na direção da universidade, constatando
rapidamente que algo de anormal se passava em Paris. Parecia
julho, mês em que a maioria da população rumava às províncias
para passar o verão.
Num dia habitual, a cidade tinha muito movimento. Carros,
motos, bicicletas, carroças puxadas por cavalos, pequenos e
grandes autocarros circulavam nas principais ruas e avenidas,
enquanto nos passeios centenas de pessoas entravam e saíam das
lojas, dos bistrôs, das boulangeries ou das pharmacies.
No entanto, hoje o que via era gente a carregar os carros com
malas, baús, sacos e caixotes. Seres em mudanças, atravessando o
passeio, agitados até pararem junto a um veículo, onde arrumavam
os pertences enquanto davam instruções apressadas aos familiares.
Homens e mulheres, rapazinhos de calções ou meninas de saiotes,
idosos cautelosos e muitas empregadas corriam de volta até à porta
de casa, como se tivessem esquecido de algo essencial,
observados pelas espantadas porteiras dos prédios, de mãos
enfiadas nos bolsos das batas.
Carol começou a pedalar mais depressa na Hirondelle, com uma
certeza incómoda a assentar no seu espírito: Paris ia debandar em
manada. Os habitantes tinham escutado o cair das bombas
noturnas e já conheciam o desfecho lamentável da batalha de
Dunquerque. Uma desconfiança visceral atingira-os, o terror dos
panzers tornara-se insuportável e a cidade entrara em pânico. Horas
depois de Madre Mary, milhões já sabiam que a força militar
francesa desmoronara-se e que o seu pouco respeitado Governo
era um tigre de papel. A França ia ajoelhar em breve, talvez a Linha
Maginot ainda resistisse uns dias, mas o desfecho da guerra estava
traçado.
Quando Carol chegou à Sorbonne, não viu as habituais centenas
de estudantes em grupos, à roda dos bancos, trocando piadas. Só
um ou outro rapaz de cabeça baixa se afastava, com um ar
ensimesmado. Parecia domingo de manhã, quando os universitários
curavam a ressaca.
Mas ela tinha de entregar um ensaio sobre a Odisseia. Homero,
o autor clássico que mais admirava, fora a sua escolha. Fascinara-a
a longa viagem de Ulisses e a paciente sabedoria de Penélope, bem
como a mitologia fantástica que percorria a narrativa. Como lhe
saíra bem o texto, estava confiante, embora o seu francês escrito
não possuísse ainda a precisão e a riqueza a que aspirava.
Depois de encostar a Hirondelle à parede, entrou pela porta
principal do colégio, dirigindo-se aos gabinetes dos professores, no
primeiro andar, onde contava encontrar não só alguns colegas de
turma, pois todos tinham de apresentar os trabalhos, mas sobretudo
o seu professor de literatura grega, Monsieur Sautierre, uma
autoridade indisputada naquela área de estudos.
Com sessenta e tal anos, o lente francês escrevia grego desde
os sete e garantia conhecer todos os filósofos na intimidade.
«Sócrates, Platão, Aristóteles, Xenofonte, durmo na cama com eles
há sessenta anos!», dizia, encantando os alunos com a sua retórica
enleante e elegante. Porém, não estava no seu gabinete, nem havia
à sua porta qualquer estudante ansioso.
Eram onze da manhã, o que se passaria? Durante a hora
seguinte, a minha prima esperou a chegada do eminente
especialista na Grécia Antiga, mas este não deu sinal de vida.
Apenas por lá passou um colega cuja cara lhe era vagamente
familiar, mas que rapidamente lhe virou costas. Então, pouco depois
do meio-dia, desistiu e caminhou para a saída com lentidão
desmotivada. A sua Paris, onde era tão feliz, desmoronava-se. Uma
noite de bombas nos arredores e uma saraivada matinal de más
notícias tornaram possível o impensável.
Ainda no hall, cruzou-se finalmente com alguém que estimava,
Max Katzenberg, um senhor barbudo e de nariz curvo, dos seus
sessenta anos e sempre enfiado nuns fatos coçados, exibia um
olhar entristecido, que só se iluminava ao falar de música,
especialmente de compositores cujo nome começava com a letra B,
como Bach, Beethoven ou Brahms.
Contudo, em Paris não era professor de música, mas sim de
literatura germânica, uma matéria que não dominava e que lhe fora
entregue por favor, pois era judeu. Chegado à pressa dois anos
antes, vindo da Alemanha e em fuga às perseguições nazis, a
universidade sugerira-lhe aquela cadeira para lecionar, pagando-lhe
uns raquíticos cobres. Para compor os rendimentos, trabalhava à
tarde numa loja de música perto da Residencial de Saint-Sulpice,
onde tentava vender violinos, pianos ou flautas.
Quase todos os dias, ao regressar das aulas, Carol passava em
frente à montra repleta de instrumentos, e o professor Katzenberg
acenava-lhe com a batuta. Certa vez, ouvira pacientemente a triste
história dele – a mulher morrera cinco anos antes, de uma
pneumonia –, sorrindo sempre que o solitário homem lhe dizia estar
à procura de noiva em Paris, que, segundo Katzenberg, era «a
cidade certa para a encontrar».
– Caroline, onde vai? – perguntou o professor.
Ela hesitou, como se não soubesse a direção a tomar depois
daquela frustrante espera. A universidade estava vazia, não
conseguira entregar o trabalho e em Paris nascia um caos.
– É a palavra certa – concordou Katzenberg. Pesaroso, recordou
os massacres a que assistira na Alemanha, durante a tenebrosa
Noite de Cristal. Os nazis eram uma máquina poderosa de medo e
destruição, o povo de Paris estava a fazer a coisa certa, fugir deles.
– Também me vou embora. Vão perseguir as pessoas como eu. –
Comprara um bilhete de comboio para Bordéus e partiria ao final da
tarde, até já fizera a sua pequena mala, não tinha muito para levar.
Quando lá chegasse, pensava no futuro, talvez pudesse ser
professor numa escola. – Só tenho pena de uma coisa… – afirmou
tristemente. – Já não será em Paris que vou encontrar noiva!
Quando a minha prima lhe disse que iria com as freiras do Saint-
Sulpice para Clermont-Ferrand, onde esperaria o fim da guerra, ele
avisou, coçando a barba: – Não será assim tão rápido – depois,
esboçou um sorriso. – Noutra vida, a Caroline seria a minha noiva!
Ela despediu-se, constrangida, acelerando o passo até à porta
do colégio. Mal a atravessou, o seu coração pulou. Um rapaz
montava a Hirondelle, como se fosse o proprietário. Carol desatou a
correr, gritando que a bicicleta era dela, não a podia roubar. Fê-lo de
forma tão agressiva que o ousado estudante desmontou e deixou-a
cair, afastando-se assustado, como se um animal perigoso e de
grande porte se aproximasse.
– Estúpido! – gritou-lhe Carol, agarrando com firmeza a
Hirondelle.
Em dois anos, ninguém lhe havia tocado, quanto mais tentado
roubá-la! O que estava a acontecer às pessoas naquela cidade?
Irritada, deu aos pedais, acalmando-se ao ouvir os pneus pisarem o
saibro, como se o triturassem.
Se aquela surpresa desagradável não teve consequências, a
que se seguiu abalou-a profundamente. Meia hora depois, estava à
porta do prédio onde vivia Jean-Luc, perto da Place des Vosges, do
lado de lá do Sena. Subiu as escadas até ao segundo andar e tocou
à campainha várias vezes, mas ninguém lhe abriu a porta. O
namorado dormia até tarde, teria ido almoçar?
– Mademoiselle Caroline!
Quem a chamava era a porteira, Madame Félix, que atirava
olhares de reprovação às suas visitas namoradeiras. A minha prima
desceu, recebendo das mãos dela um envelope. Surpreendida,
abriu-o e desdobrou uma única folha. Jean-Luc desculpava-se por
partir sem se despedir, mas fora para Lyon no comboio da uma da
tarde.
Uma súbita raiva subiu-lhe pela alma. O idiota! O cobarde! Fugir
assim, sem falar com ela? Que miserável! Cerrando os dentes,
ignorou o cínico sorriso de Madame Félix e saiu.
4
Paris, 4 de junho de 1940
Durante as horas seguintes, Carol vagueou por Paris numa
apatia entristecida. Nem a Hirondelle revelou a habitual magia e,
pela primeira vez, não se sentiu a voar. Aliás, a maior parte do
tempo levara a bicicleta pela mão ou sentara-se num banco
qualquer – nas Tulherias, nos Campos Elísios, mais tarde em frente
à Catedral de Nôtre-Dame – a matutar, deprimida.
Não estava apaixonada por Jean-Luc, ele não lhe tinha partido o
coração, a questão não era essa! Numa primeira vaga de raiva,
concluiu que aquela separação inesperada agravava a sensação
dolorosa por ser um manifesto da mudança radical de Paris. Jean-
Luc era um símbolo francês, um exemplo de falta de resiliência, de
vertigem medrosa e de uma mesquinha ausência de solidariedade.
Tal como no romance de Victor Hugo, Os Miseráveis, no presente
também existiam os fugitivos e os lutadores que construíam
barricadas nas ruas! Jean-Luc pertencia ao grupo dos primeiros.
Infelizmente, não via parisienses da segunda estirpe e era nesse
momento que lhe nascia na alma uma nova vaga, mais racional e
compreensiva: os citoyens estavam em pânico e, tendo familiares
nas províncias, era natural colocarem-se a uma distância segura
dos panzers. Jean-Luc fora lúcido, se não partisse hoje de comboio,
poderia não o conseguir fazer depois.
Após essa curta acalmia, uma terceira onda de emoções
levantava-se, crispada e barulhenta, denegrindo o amigo por a
haver ignorado, por não mostrar sequer a decência e o
cavalheirismo de a informar. Ela não teria revertido a decisão dele,
nem esperado uma sugestão para o acompanhar. Mas fugir como
um tolo? Caramba, não se viam ainda botifarras nazis nos
boulevards e Jean-Luc nem sequer era judeu, comunista, ou
soldado, não estava no topo das preocupações alemãs!
De repente, a minha prima lembrou-se da opinião de Polly sobre
os franceses e deu por si a concordar com a americana. Andavam
aterrados e o desaparecimento intempestivo de Jean-Luc provava-o.
Não que o namorado apresentasse falta de apetite sexual, essa
parte não validava a teoria de Polly, mas…
Um pensamento intrometeu-se e o coração magoado de Carol
acelerou a batida. E se estivesse grávida? Jean-Luc fora-se embora
sem qualquer preocupação com essa minúscula probabilidade!
Esquecera-a sem lhe dar sequer um romântico beijo de despedida,
na gare, como no final dos filmes americanos. Porém, a minha prima
dera-se e, mesmo com as precauções tomadas, podia sempre
existir um percalço! Na universidade, conhecia pelo menos duas
alunas que haviam engravidado sem querer. Aquela dor na barriga,
que já sentira várias vezes, seria um pequeno embrião a germinar?
Enxotou a tolice. Não estava grávida, o sentimento de abandono
é que a fazia pensar assim. A única conclusão certa era a de que o
namorado não prestava, ponto final. Decidida, começou a
desconstruí-lo. Que parvo, sempre com a boca torta de nojo, ao vê-
la comer mexilhões! O odor dele também lhe repugnava, mas o pior
era mesmo o cabelo, oleoso, lambido e raramente lavado. Isso e a
incapacidade para dar uns passos de dança. Não tinham mesmo
nada a ver um com o outro, aquela fora uma mera ligação entre dois
solitários, fraca e ténue!
Até na cama era maçador, um aspirante a médico sem qualquer
curiosidade pela anatomia feminina. Nem por uma vez a beijara nos
mamilos ou lá em baixo e possuía-a sempre deitado em cima dela,
que abria as pernas e pronto, um calorzinho no ventre e já está!
Agora que pensava nisso, nunca ficara por cima, a tal posição de
que Polly tanto gostava. Aliás, o lendário prazer explosivo de que as
outras mulheres falavam, que se devia procurar como se fosse o
Santo Graal dos romances da Távola Redonda, nunca Carol o
encontrara! Jean-Luc era um banal iniciador, sem prática ou jeito,
que nem sequer ascendia ao nobre estatuto de ter sido o seu
primeiro homem.
A dado momento, tanta era a sua irritação que até olhou com
brusquidão para a Hirondelle quando esta tombou com o vento,
talvez por estar mal encostada ao banco. Levantou-se, furiosa,
prestes a brindar com palavrões a bicicleta, como se esta fosse uma
extensão de Jean-Luc. Porém, um raio de lucidez atravessou-a: não
seriam justos tais desatinos, a Hirondelle nunca lhe falhara, nem um
mísero furo tivera em dois anos, revelara-se um monumento de
resiliência. Enquanto Paris a abandonava, a fiel bicicleta continuava
com ela! Então, levantou-a do chão e acarinhou-a, passando a
palma da mão direita no selim. Se algo parecido com amor existia
no seu coração, era por aquela bicicleta!
Mais calma, deu por si com fome, a tarde já ia a meio e nada
comera desde manhã. Tinha uns francos no porta-moedas e olhou
em volta, para se situar. Lembrava-se vagamente de que passara
uma das pontes do Sena, antes de se sentar mais uma vez,
supinamente chateada. Estava nos jardins da Nôtre-Dame e viu, do
lado de lá do rio, na direção do Saint-Germain, um bistrô numa
esquina, para onde se dirigiu.
Encostou a bicicleta à parede do Chez Pierre, onde nunca
entrara, apesar de se recordar de que, um dia, Sara comentara que
ali se serviam uns bons ovos mexidos. Pediu-os, juntamente com
uma torrada e um café com leite, mal se sentou a uma das mesas e
o proprietário a veio atender, contrariado e arrastando os pés.
Ao balcão viu apenas três clientes, debruçados sobre um rádio,
um Telefunken, ironicamente alemão. Pelo vestuário, deviam ser
funcionários públicos, pois usavam mangas de alpaca e pareciam
ansiosos, embora por vezes lançassem comentários jocosos, como
se o locutor da rádio não os convencesse.
Enquanto comia, a minha prima escutou a voz rouca e poderosa
que provinha do aparelho, que lhe soou vagamente conhecida e
cujas frases em inglês eram ditas com firmeza e convicção. Fosse
quem fosse, tinha jeito à frente do microfone e foi esse talento que a
obrigou a tomar atenção às palavras.
«...Tenho plena confiança de que, se todos cumprirem os seus
deveres, se nada for negligenciado e se as melhores providências
forem tomadas, como está sendo feito, deveremos provar ser
capazes mais uma vez de defender a nossa ilha natal, de superar a
tempestade da guerra e de sobreviver à ameaça de tirania, se
necessário por anos, se necessário, sozinhos.»
Um dos funcionários públicos soltou uma gargalhada, macerada
de desprezo, apelidando quem falava de «velho bêbado». Foi nesse
momento que Carol identificou finalmente a voz de Winston
Churchill, o recém-nomeado primeiro-ministro da Inglaterra,
enquanto este fazia uma referência à República Francesa, gerando
alguma indignação nos ouvintes, que logo negaram aos ingleses o
estatuto de fiéis aliados.
– Balelas! – protestou um dos mangas de alpaca. – A Maginot é
que nos vai salvar, não é este careca gordo!
Carol ignorou-os, como que atraída por um íman sonoro.
Churchill usava impressionantes adjetivos e falava agora em
«grandes extensões da Europa e antigos e famosos Estados»,
caídos «nos punhos da Gestapo» e do «odioso aparato do domínio
nazi».
De repente, um conjunto de frases épicas emergiu do Telefunken
e, como que por magia, o garfo da minha prima ficou suspenso no
ar.
«Iremos até ao fim. Lutaremos na França. Lutaremos nos mares
e oceanos, lutaremos com confiança crescente e força crescente no
ar, defenderemos a nossa ilha, qualquer que seja o custo.
Lutaremos nas praias, lutaremos nos terrenos de desembarque,
lutaremos nos campos e nas ruas, lutaremos nas colinas; nunca nos
renderemos!»
Finalmente, havia alguém que prometia uma resistência férrea
contra os nazis. A coragem mostra-se, na esperança de que se
multiplique, e a de Churchill emitia um brilho tão eficaz que teria
certamente a capacidade de parar a fuga dos parisienses, de lhes
tirar o medo e de os convencer a lutarem pelo que era seu, por uma
Paris que a minha prima adorava.
– Eu vou ficar – prometeu a si própria. – Não vou deixar a cidade
e vou lutar, tal como Churchill disse. Eu não me rendo!
Decidida, procurou o olhar dos franceses, mas estes, apesar de
temporariamente emudecidos pela vibrante peroração do primeiro-
ministro inglês, estavam já para além da salvação. Como se aquele
notável discurso tivesse exposto ainda mais as suas fraquezas, os
três ouvintes abandonaram o bistrô cabisbaixos e envergonhados.
E, para enorme espanto de Carol, enquanto dois seguiram pela rua
para a direita, um dos manga de alpaca dirigiu-se à Hirondelle e
preparou-se para a montar. Com um pulo, a minha prima levantou-
se, ouvindo nas suas costas um grito do proprietário, convencido de
que ela ia escapar sem pagar, enquanto saía para a rua, insultando
o homem com palavrões!
Tal como de manhã o rapaz, o funcionário público largou a
Hirondelle e seguiu caminho sem se desculpar. Ainda com o sangue
a latejar nas têmporas, Carol levantou a bicicleta do chão e estacou,
siderada, vigiada pelo dono do estabelecimento. Mais calma,
encostou de novo a Hirondelle à parede e reentrou no bistrô,
seguida de perto pelo homem, cujo comentário seguinte não se
destinou à tentativa de furto, mas ao discurso de Churchill.
– É fácil falar do lado de lá da Mancha – resmungou ele, antes
de exigir que Carol pagasse, pois tinha de fechar portas.
Desiludida, a minha prima retirou uma conclusão óbvia: Paris
não queria saber de lutas.
5
Paris, 4 de junho de 1940
No Boulevard Saint-Germain, pelas seis da tarde, alguns carros
eram ainda carregados com malas, mas o frenesim matinal
desaparecera. A cidade voltava à normalidade, deduziu Carol,
pedalando lentamente, enquanto era ultrapassada por um grande
automóvel preto que, cem metros à frente, virou à esquerda.
Um Mercedes... Não que fosse raro, mesmo os franceses
compravam carros alemães, porém pareceu-lhe um mau presságio.
Virou também e via já os contornos do Convento de Saint-Sulpice
quando reparou que o veículo estacionara à porta de casa da sua
amiga Sara.
Um homem alto, coberto por um casaco longo e preto, tocou à
campainha da bonita mansão parisiense, de dois andares e águas-
furtadas, onde ela muitas vezes estudava para os exames. Curiosa,
Carol travou a Hirondelle. O Mercedes exibia duas bandeirinhas
nazis junto aos retrovisores, era certamente pessoal da Embaixada
germânica, mas andarem à vontade por ali, apenas horas depois de
terem bombardeado a capital de França? Que descaramento
arrogante!
A minha prima matutou sobre a possível razão daquela
inesperada visita. Marcel, o pai de Sara, era um judeu francês, que,
embora nascido em Estrasburgo, trabalhara décadas em Colónia,
nas prósperas fábricas do seu já falecido progenitor, nacionalizadas
uns anos antes, quando o ambiente hostil aos judeus, na Alemanha,
se tornou irrespirável. Contudo, em Paris, onde sempre tivera casa,
apesar de influente na comunidade judaica, Marcel raramente
visitava a sinagoga, até porque Anne, sua mulher, era católica e
obrigara Sara e o filho mais novo, François, a uma educação cristã.
Subitamente, a porta da moradia abriu-se e surgiu Mademoiselle
Laffitte, uma senhora gorducha que apresentava sempre as
bochechas coradas e uns óculos redondos e minúsculos pousados
a meio da cana de um largo nariz. Fazendo deslizar a bicicleta no
asfalto, Carol aproximou-se, para escutar as perguntas do alemão,
que estava acompanhado por dois ajudantes, um já na rua,
encostado ao Mercedes, outro sentado ao volante.
– Monsieur Marcel n´est pas là! – indignou-se Mademoiselle
Laffitte, agudizando o tom de voz.
A governanta da casa, perante qualquer incómodo, entrava em
imediato descontrolo sonoro. Sem aviso, iniciava um irregular
cântico, onde se misturavam gritinhos de intenção melodiosa com
claras fífias. Estas curtas árias eram acompanhadas por um
acelerado bater de pestanas, sobretudo na presença de François,
um rapaz de catorze anos, impertinente e de mau feitio, dado a
partidas de mau gosto e a palavreado grosseiro.
Porém, quando viu a temível Mauser do alemão da Gestapo, que
levantara a aba do casaco para exibir o coldre aberto, a voz
estridente de Mademoiselle Laffitte sumiu-se e uma palidez súbita
tingiu de branco o seu rosto, como se tivesse vislumbrado não
apenas uma pistola, mas a sua própria morte.
O decidido nazi anunciou que regressaria em breve, para «falar»
com «Monsieur Marcel», uma preocupante promessa que
obviamente não extinguiu o terror primitivo da governanta. Os dois
alemães reentraram no Mercedes e, antes de fechar a porta, o que
falara fitou Carol, ainda montada na Hirondelle.
A minha prima estremeceu com a frieza do olhar do nazi, mas o
seu apurado sentido de observação captou alguns relevantes
pormenores: a testa alta, o cabelo ralo e claro, as pupilas azuis, as
sobrancelhas simétricas e finas, a pele bem barbeada e um nariz
esfíngico. Recordou-se das palavras de Polly sobre os alemães
giros que podiam aparecer em Paris. Contudo, mesmo parecendo
um ator americano, aquele homem assustava ao mesmo tempo que
encantava, talvez devido ao fosso que separava o aspeto físico,
sofisticado e até belo, da voz agreste, da determinação autoritária
dos gestos e da crueza gélida do olhar.
Foi essa dualidade chocante a responsável pelo
constrangimento de Carol, que permaneceu rígida enquanto o
Mercedes arrancava sem pressas. Só quando o viu a cem metros,
próximo dos Jardins do Luxemburgo, é que observou novamente
Mademoiselle Laffitte, que se mantinha também imóvel, qual estátua
de museu, com o olhar ainda fixo no preciso local onde tinham
estado o alemão e a sua arma, como se esta continuasse lá, pronta
a disparar.
A minha prima desmontou da Hirondelle e aproximou-se.
– Bonsoir, Mademoiselle Laffitte, a Sara está?
A governanta demorou quatro segundos a responder. Os seus
olhos vaguearam pela rua, um minúsculo tique agitou-lhe as
bochechas, as mãos juntaram-se e pousaram na proeminente
barriga, como as dos mortos, até que por fim as pestanas bateram
aceleradas e exclamou: – Oui, elle est là!
Lembrando-se das duas tentativas de roubo da Hirondelle só
nesse dia, Carol pediu permissão para entrar com ela, obtida antes
da notificação musical de que Sara acabara de tomar banho. Numa
curta cantata, Mademoiselle Laffitte denunciou mais uma tentativa
de perturbação da mana pelo temível François. O petit sauvage
invadira a salle de bain com descaramento, obrigando-a a manter-se
à porta, qual guardiã do templo, perante a rajada de insultos do
rapazola, cujos péssimos colegas de colégio eram obviamente os
responsáveis por aqueles ditos diabòliques!
– Parece um operário! – trauteou a senhora em pleno hall, as
cordas vocais sempre à procura do registo certo, que nunca
encontrariam. – Sara! – gritou, enchendo o peito de ar como uma
cantora de ópera em frente à plateia. – Carol est là!
Do primeiro andar escutou-se uma frase ininteligível, que a
governanta interpretou como aprovação, apontando o dedo
indicador gorducho para cima, sem sentir a necessidade de fornecer
uma explicação adicional. Enquanto Carol subia as escadas, avisou-
a de que contava com ela ao jantar, ia mandar pôr mais um lugar à
table, cantarolou ao afastar-se, abafando o agradecimento da minha
prima com o ressoar dos seus tacões no chão de madeira do
corredor.
Já no patamar do primeiro andar, Carol estacou ao deparar-se-
lhe François, de joelho pousado no chão, olho esquerdo fechado,
fisga apontada e uma pedra pronta para ser atirada. Prudente, ela
sorriu. Meses de permanentes visitas à casa da amiga tinham-na
levado à conclusão de que só neutralizava as hostilidades de
François com um sorriso, a senha certa para um subtil armistício.
– Viste a Gestapo? – com ar de entendido, o rapaz explicou que
as bandeirinhas nazis e o Mercedes negro não deixavam dúvidas. –
E a pistola é uma Mauser Luger P08, só a Gestapo as usa –
garantiu, acrescentando uma certeza preocupante: – Procuram o
meu pai.
– Porquê? – perguntou a minha prima.
François manteve o ar solene, enquanto colocava a pedra no
bolso.
– Escapaste de boa. A esta distância, rachava-te a cabeça,
como farei ao nazi, se entrar cá em casa.
Numa tentativa clara para imitar a voz rouca de Churchill, gritou
«We shall never surrender!» e a seguir atirou-se pelas escadas a
baixo aos saltos, três degraus de cada vez, impulsionando-se com a
mão direita no corrimão, que agarrava e largava com a destreza de
um símio dominador daquela selva doméstica.
– Está cada vez mais nervoso – comentou Sara.
A amiga estava à porta do quarto e Carol sentiu-a aflita. Com
vinte e dois anos, a mesma idade da minha prima, era lindíssima e
dona de uns longos cabelos loiros realçados pelo contraste não só
com os olhos castanhos, mas também com o manto de pequenas
sardas que lhe cobria a pele rosada. O rosto de Sara, de tão
perfeito, parecia desenhado por um pintor com a ambição clara de
impressionar as gerações vindouras. A testa e as sobrancelhas, as
bochechas e o queixo, a boca e os lábios, tudo tinha a
proporcionalidade e a dimensão certas. Apenas o nariz destoava,
pois apresentava no final um ligeiro levantamento que o arrebitava
(Sara chamava-lhe um salto de ski), criando um resultado
inesperado, magnificamente humano, como se aquela fosse a
imperfeição necessária para garantir que ela não era uma deusa do
Olimpo, mas sim uma mulher real.
Naturalmente, a sua proverbial beleza afetava os alunos e os
professores da Sorbonne, só que, apesar de ser muito cortejada,
Sara mantinha um permanente distanciamento que muitos
interpretavam como arrogância, mas que não era mais do que um
escudo protetor. A amiga temia magoar-se, sofrer de mal d´amour,
dizia sempre que era cedo para se apaixonar, pois ainda tinha muito
para viver. Havia nela uma permanente recusa do romantismo,
como se namorar fosse apenas uma desconfortável tolice.
– Tu é que gostas disso – justificava-se a Carol, deixando para
trás uma mão-cheia de pretendentes rejeitados.
Tratava-se de um desligamento forçado, pois, se em sociedade
Sara se mostrava alheada e muito racional, sofria uma clara
metamorfose perto do irmão, ou mesmo do pai e da mãe. Tinha iras
intempestivas e, após esses momentos em que mostrava o seu lado
avassalador, corava e alegava que François lhe fazia «estalar o
verniz!» Carol já a vira atirar um sapato, uma moldura, até um vaso
de flores, sempre contra o irrequieto irmão. A bela esfinge que
obrigava os pescoços masculinos a rodarem, a notável figura
geradora de silêncios aduladores quando passava, transformava-se
numa fera de dentes e punhos cerrados, cujos cabelos ficavam
despenteados, como que vítimas de um tornado, mal François
ultrapassava o denominado «limite do aceitável», uma linha
imaginária que ninguém sabia onde ficava, mas que avançava a
olhos vistos, sobretudo depois da invasão da França pelos nazis.
– Tem medo de que prendam o meu pai – acrescentou Sara.
– Mas o que quer a Gestapo? – inquietou-se Carol.
6
Paris, 4 de junho de 1940
A tensão na sala de jantar teimava em não se desvanecer, como
se nem a ementa – uns linguados au meunier bem temperados,
acompanhados por batatas cozidas e legumes salteados –, nem a
decoração elegante – lírios, girassóis, cravos e miosótis coloridos
misturavam-se num centro de mesa – fossem capazes de diluir a
preocupação dos comensais.
Um peso no peito oprimia Carol. Fora um dia demasiado longo,
carregado de surpresas desagradáveis. As bombas durante a noite,
a decisão de Madre Mary de encerrar o convento e a residencial, a
suspensão inesperada das aulas na universidade, os parisienses
em fuga atabalhoada, a partida sem aviso de Jean-Luc, as
tentativas de roubo da Hirondelle e, por fim, a presença da Gestapo
à porta de casa da amiga.
A minha prima sabia que Marcel e Anne tinham ido de carro a
Estrasburgo há vários dias, com a intenção de trazer de lá a mãe de
Marcel, uma senhora de oitenta anos chamada Raquel, que vivia
sozinha na velha casa da família. Viúva e com maleitas nas costas,
a avó de Sara recusava deixar os recantos domésticos onde sempre
vivera, mas, após a confusão gerada pela invasão das Ardenas,
Marcel fora corajosamente obrigar a mãe a mudar-se para Paris.
Três dias antes, num telefonema, o pai de Sara reconhecera a
volatilidade perigosa da situação. À volta de Estrasburgo, muitas
estradas encontravam-se cortadas, havia permanentes e erráticas
movimentações das tropas francesas, bem como o temor geral de
um ataque à Linha Maginot. Para mais, com a teimosia que sempre
a caracterizara, a avó de Sara fazia finca-pé, jurando que preferia
morrer a abandonar o ninho.
– É parecida contigo, teimosa como uma mula – acusou
François, numa clara tentativa de ofender a irmã.
– Cala-te, palerma! – ripostou Sara com um grito.
Mademoiselle Laffitte procurou evitar a escalada verbal, mas a
sua tentativa pífia, quando referiu a estreia de um filme americano
nos cinemas de Paris, ainda alienou mais os filhos de Anne e
Marcel, pois o rapaz sentenciou que os filmes «eram para meninas
parvas como a Sara», o que gerou uma pronta réplica desta, que
acusou o mano de «incultura aflitiva».
– Quando tiveres filhos vais dar leite, como as vacas? –
provocou François, sempre a roçar a boçalidade.
Sara cerrou os dedos à volta do garfo, que Carol deduziu ir voar
em breve. Numa manobra preventiva, pousou a mão no braço
direito da amiga e recordou a paciência de Penélope à espera de
Ulisses, tema do ensaio que não chegara a entregar.
– Ah, a Odisseia, a Ilíada! – extasiou-se Mademoiselle Laffitte. –
Adoro os gregos, a mitologia e os deuses deles! – batendo as
pestanas freneticamente, acrescentou: – E aquele descomunal
Minotauro! Oh la la, fascina-me!
A governanta admirava tudo o que tivesse dimensões
gigantescas. De Hércules a camiões, de zepelins a monumentos, de
elefantes a museus, qualquer coisa que possuísse a grandeza como
característica distintiva ocupava lugar especial no coração dela.
– Os elefantes têm medo dos ratos – azucrinou François.
Mademoiselle Laffitte libertou um gritinho, iniciando outra
melodia desafinada, a defender que as piores coisas do mundo
eram as pequenas! Ratos, baratas, aranhas ou punhais,
considerava-os nojentos, perigosos e desprezíveis. Se a grande
dimensão de certas coisas a encantava, o tamanho reduzido de
outras perturbava-a claramente, e Carol recordou-se do pavor dela
perante a pistola alemã.
– O pai está em Paris! – interrompeu François, sem ligar à
dissertação cantarolada pela governanta.
– Os nossos pais em perigo e brincas com coisas sérias! –
indignou-se Sara, que voltou a apertar o garfo, enquanto acusava o
irmão de ser mau como as cobras, afirmação que produziu um
imediato esgar na aspirante a cantora, que naturalmente odiava a
mesquinhez das pequenas serpentes.
O impávido François insistiu: o pai estava na cidade e possuía
uma prova impossível de negar.
– O Citroën azul da avó Raquel está parado numa pequena
transversal à nossa rua.
*
É este o momento para uma primeira e breve nota pessoal.
Como já aqui referi, Carol era minha prima. A sua mãe era irmã da
minha, mas conhecíamo-nos mal, pois eu vivera a maior parte do
tempo fora de Portugal, acompanhando a vida empresarial do meu
pai, enquanto Carol sempre morara em Lisboa. Além disso, era
doze anos mais nova do que eu, e só a vira uma vez, uma década
antes. Portanto, quando me apareceu no escritório da companhia de
navegação, uns tempos após estes acontecimentos de Paris,
éramos quase dois estranhos e eu nem podia imaginar que,
semanas mais tarde, o Citroën azul que, em junho, era propriedade
da avó de Sara e François, seria comprado por mim no final desse
verão. Sim, aquele Citroën azul foi o meu carro em Lisboa, durante
esses anos da guerra que por lá vivi. E posso aqui garantir que era
um excelente automóvel e me deu muitas alegrias, além de ter
desempenhado um relevante papel na história que estou a contar.
«Jack», garantira a minha prima, «o carro estava mesmo lá!»
*
Perante a insistência de François, a irmã pousou o garfo e
levantou o rabo da cadeira, atravessando duas salas até chegar ao
escritório, de cuja janela se podia ver a pequena rua em causa.
Carol seguiu-a, bem como Mademoiselle Laffitte, mas o escuro da
noite não lhes permitiu uma conclusão segura.
– É um carro pequeno… – pigarreou, desagradada, a
governanta.
Sara manteve um ceticismo forçado, como se não desejasse
criar expectativas falsas. Se o pai tinha saído de Paris ao volante do
seu Packard castanho, porque o teria deixado em Estrasburgo?
Qual a razão para regressar no Citroën azul, que não gostava de
conduzir? E onde estavam a avó e a mãe?
– É o Citroën! – repetiu François.
– Como podes ter a certeza? – perguntou Sara.
O irmão afirmou que vira o carro ali parado ao final da tarde,
percebendo que o pai já chegara a Paris.
– E se a Gestapo veio cá, é porque também sabe disso!
– Faz sentido – concluiu Carol. A Gestapo não ia bater-lhes à
porta se não desconfiasse de que Marcel tinha regressado de
Estrasburgo.
– Ainda há mulheres espertas – comentou François.
Sempre sensível às críticas, Sara irritou-se e, como por vezes
acontecia, decidiu punir a amiga por o irmão a considerar mais
inteligente do que ela.
– Carol, podes ir lá ver se é o Citroën?
O seu tom imperativo não deixava dúvidas: se a minha prima
não aceitasse o pequeno castigo, baixaria na consideração dela.
– A Caroline tem de regressar ao convento – lembrou
Mademoiselle Laffitte, somando à ordem de Sara um válido
argumento logístico.
– Só sabes mandar! – proclamou François, que considerava a
irmã uma habilidosa manipuladora das vontades alheias, exceto da
sua, pois recusava os comandos da mana com um gesto feio.
Sempre paciente com Sara, Carol aceitou o desafio com
elegância. Após ouvir François debitar o número da matrícula da
viatura, em passos decididos caminhou até ao hall, onde ignorou a
Hirondelle e se dirigiu à porta principal.
Já na rua, a primeira coisa em que reparou foi no Mercedes da
Gestapo, parado no passeio oposto, com os três homens lá dentro.
Sem hesitar, fechou a porta e caminhou na direção do convento. Ao
atravessar a avenida, sentiu os olhos dos nazis a vigiá-la, mas
continuou e virou para a pequena perpendicular. O pátio do
Convento de Saint-Sulpice tinha uma porta traseira para aquele lado
e, se os alemães a interpelassem, possuía uma boa desculpa.
Ao passar pelo Citroën, confirmou a matrícula, Marcel estava
mesmo em Paris! Então, levou de repente a mão à cabeça e soltou
um gritinho, fingindo que se esquecera de algo. Este curto número
teatral revelou-se essencial, pois mal deu meia-volta notou um dos
alemães à esquina, observando-a. Surpreendido, o homem (o que
se encostara ao carro ao fim da tarde) recuou e precedeu-a no
caminho de volta, até se debruçar sobre o Mercedes, onde
parlamentou com o seu superior.
Carol não parou, mas quando atravessou de novo a avenida,
este último barrou-lhe o caminho.
– Onde vai a esta hora? – perguntou em francês.
A minha prima alegou ir buscar a bicicleta, de que se esquecera.
O alemão examinou-a, à procura de um sinal de fraqueza, um lapso
da coragem, de indícios de uma mentira. Porém, lembrava-se da
Hirondelle, sabia que ela chegara nela. Portanto, deixou Carol
prosseguir até à casa da amiga, onde reentrou e confirmou que o
Citroën era o da avó Raquel.
– Vês? – gritou François à irmã, como se festejasse uma vitória.
Foi um fútil contentamento, logo substituído por uma
desagradável angústia, motivada pela forte incerteza sobre o pai.
Então, e para acalmar os amigos, Carol prometeu vigiar o Citroën na
manhã seguinte. Era fácil, bastava-lhe ir ao pátio.
– Esperem por notícias minhas – declarou ao despedir-se.
7
Paris, 11 de junho de 1940
Sete dias após a descoberta do Citroën azul, Marcel ainda não
dera sinal de vida. Carol observara diariamente o carro e os edifícios
adjacentes, enquanto a preocupação permanecia no coração dos
dois irmãos e de Mademoiselle Laffitte e a cidade se esvaziava,
deixando angustiados os que ficavam, quais habitantes de uma
aldeia debaixo de um vulcão, que já vomita fumo negro, mas ainda
não cospe lava.
Na véspera, a Linha Maginot tinha sido atacada, como Madre
Mary previra uma semana antes, debruçada sobre o mapa da
Europa. A longa estrutura de fortificações, que prometia parar o
avanço dos nazis, fora tomada de assalto pelo único lado donde não
era suposto estes aparecerem: a própria França.
Aos generais gauleses, habituados às leis rígidas da anterior
guerra, travada vinte anos antes, nunca passara pela cabeça a
possibilidade de os alemães desviarem as suas forças do Norte,
descendo em alta velocidade através do território francês para
atacarem a Linha Maginot pelas traseiras. Os que a defendiam nem
deram um tiro, pois os canhões e os morteiros estavam virados para
a Alemanha!
A notícia espalhara-se nessa manhã, trazendo associadas duas
terríveis certezas: a França perdera a guerra em poucas semanas e
os nazis estariam em Paris dali a dias. A cratera do vulcão expelira
a primeira lava. De repente, foi como se Deus tivesse ordenado a
aceleração do tempo.
– Carrô, partimos amanhã de manhã, na camioneta! – anunciou
Madre Mary. – Tens de ir hoje! Não podes ficar em Paris!
A minha prima não comprara o bilhete de comboio para
Clermont-Ferrand, como sugerira a Madre superiora. Primeiro,
porque na estação não lhe tinham garantido o transporte da
Hirondelle; segundo, porque Sara e o irmão continuavam em casa,
vigiados pela Gestapo. Abandoná-los soava-lhe a cobardia e,
durante a semana, insuflara-se de coragem, repetindo
constantemente as frases de Churchill: «Lutaremos nos campos,
nas ruas e nas colinas; nunca nos renderemos!»
– Vou com a Polly!
Dias antes, a americana informara-a de que sairiam da cidade
vários camiões, carregados com as mil e uma coisas de que os
hospitais se compõem. Um deles levaria a Hirondelle.
– Não te fies na Polly – murmurou Madre Mary. – Apanha o
comboio e guarda a bicicleta no armazém do convento, ninguém a
rouba!
Carol mordeu o lábio inferior: a bondosa freira tinha razão, não
devia arriscar a vida por causa da Hirondelle.
– Se não arranjar forma de a despachar, deixo-a cá.
A Madre do Saint-Sulpice abraçou-a, fazendo-lhe na testa um
carinhoso sinal-da-cruz com o polegar, como se a abençoasse.
– Tem cuidado, pequena, não quero que nada de mal te
aconteça.
Sempre determinada, Carol montou na bicicleta e pedalou
furiosamente. Nas ruas e avenidas, a confusão instalara-se. Motos,
camiões, camionetas e carroças circulavam acelerados ou eram
carregados à pressa. A lava começava a descer pelo cone do
vulcão, era tempo de os aldeões fugirem.
Meia hora depois, chegou ao hospital. Na rua, Polly tagarelava
com um homem alto e mal vestido, de calças azuis, casaco de caqui
e sapatos brancos, como se tivesse juntado as peças sem reparar
que pertenciam a conjuntos de roupa distintos.
Carol prendeu a bicicleta a um candeeiro, com o cadeado que
Madre Mary lhe oferecera. Depois, aproximou-se e revelou à
americana que as últimas freiras partiriam no dia 12 de manhã, na
camioneta do Saint-Sulpice, ao volante da qual iria a Madre.
O homem dos sapatos brancos desaprovou: – Deviam ir hoje.
Polly apelidou-o de pessimista, mas acompanhou a crítica suave
com uma leve festa na barriga, uns dedos acima do cinto. Devia ser
este o americano que conhecera no night-club, na noite em que
saíra da residencial à procura de homem. «Finalmente, acertei!»,
exclamara há dois dias, descrevendo o novo parceiro, de seu nome
Michael, como bem-parecido, compatriota e jornalista.
– Vemo-nos à noite, no sítio do costume? – perguntou-lhe Polly.
Certamente devido à nacionalidade que partilhavam, sentiam-se
seguros. Além disso, os nazis respeitavam a Cruz Vermelha e
aceitavam com naturalidade a presença dos jornalistas americanos,
que, aliás, manipulavam com extrema habilidade.
Michael confirmou o encontro, mas, sem que Polly visse, piscou
o olho a Carol de forma provocatória, antes de se afastar. Tratava-se
de um óbvio mulherengo, só que a minha prima já aprendera a ser
imune à audácia que caracterizava essa espécie.
– Posso ir na ambulância? – perguntou, ouvindo uma
confirmação vaga da americana. – E o que levo nas malas?
Dentro do hospital, o primeiro corredor estava repleto de macas
com feridos, a maioria dos quais entrapados em ligaduras e
anestesiados com morfina, para não gritarem com as dores.
Sem suspender o passo rápido, Polly franziu a testa.
– Malas? Pensas que a minha ambulância é um transatlântico?
Leva um saco pequeno e não te esqueças do nécessaire. Somos
mulheres, nem a guerra muda isso!
De súbito, parou no primeiro degrau de umas escadas e jurou
que já se esquecera de Rover.
– De quem? – interrogou Carol.
Polly exasperou-se, ofendida por aquele detalhe, evidentemente
importantíssimo, ter sido apagado da memória da minha prima.
– O inglês, o maneta!
Rejeitada pelo piloto britânico, mas já encantada por outro
homem, o entusiasmo com que falara de Rover uns dias antes fora
substituído por um claro desprezo, que denegria até a ferida sofrida
pelo inglês em combate.
– Está no fim daquele corredor – disse ela, apontando
vagamente na direção em causa, antes de recordar a hora da
partida, na manhã seguinte.
– E onde ponho a Hirondelle? – questionou a minha prima.
Durante uns segundos, Polly não percebeu ao que ela se referia.
– Ah... – murmurou por fim, como se a bicicleta fosse irrelevante.
– Já te disse, mete-a num camião! – ordenou, zangada.
Inquieta, Carol recordou as sábias palavras de Madre Mary. De
facto, Polly não inspirava confiança. Talvez devesse deixar a
bicicleta no convento, em vez de a colocar nos camiões sugeridos
pela americana. Contudo, uma determinada voz interior impunha-lhe
a dedicação total à Hirondelle. Deixá-la seria impensável.
Distraída por estes pensamentos, quando deu por si avançava
por um corredor longo, com repetitivas portas dos dois lados. Talvez
fosse uma ala já evacuada, pois todos os quartos estavam vazios,
exceto os dois últimos do lado direito. Quando examinou o
penúltimo, viu na cama um moribundo, de tom de pele cadavérico e
coberto de ligaduras sujas, em que o sangue pisado se misturava
com camadas de pus. Sentada num banco junto à janela, uma
mulher idosa e vestida de negro rezava, repetindo de olhos
fechados uma ladainha numa língua incompreensível, como se
Deus fosse ainda capaz de salvar aquele infeliz.
Carol baixou a cabeça em sinal de respeito e continuou até ao
derradeiro quarto, onde uma porta entreaberta a impedia de ver
quem estava lá dentro. Curiosa, empurrou-a e no seu campo de
visão o primeiro a aparecer foi o gato, de pelo castanho e olhos
baços, quais berlindes esbranquiçados. O animal não tinha íris nem
pupilas, mas apesar de cego sentiu a presença dela e virou a
cabeça, como se a examinasse.
Desviando o olhar, a minha prima descobriu Rover sentado num
banco semelhante ao que vira no quarto anterior, mas numa posição
diferente da da mulher desse quarto. De pernas esticadas e botas
pousadas em cima da cama, levantava o braço esquerdo,
preparando-se para atirar uma pequena bola de trapos, enquanto
mantinha o direito atrás das costas, como se não quisesse mostrar o
que tinha escondido nessa mão.
O olhar de ambos cruzou-se no preciso momento em que o gato
girou de novo a cabeça na direção do inglês, na expectativa de que
este lançasse o artesanal brinquedo.
– Cego, mas esperto – comentou Rover.
Carol engoliu em seco. Ao contrário da descrição de Polly, o
piloto britânico não era careca. Tinha apenas o cabelo cortado muito
rente e uma testa grande e com recuadas entradas, que criara na
desatenta americana uma impressão errada. Os olhos negros eram
ligeiramente ofuscados pelas sobrancelhas densas, tal como uma
boca de lábios quase simétricos o era por um longo nariz. Por fim,
uma mandíbula firme e saliente segurava um queixo duro, sulcado
ao meio por uma pequena cova. Não sendo bonito, emanava de
Rover uma forte aura e Carol sentiu-se a corar, sobretudo quando
reparou nos seus longos dedos, envolvendo a bola de trapos.
– O que desejas? – perguntou-lhe o inglês.
Sem saber porquê, Carol olhou para a cama. Atrapalhada,
desculpou-se, dizendo que se enganara.
– Porque não foste com os outros?
Rover atirou a bola de trapos para o fundo do quarto e o gato
cego, ouvindo-a cair no chão, saltitou à procura dela, sem qualquer
dificuldade de orientação.
– Os alemães vão matar-me, mais vale esperar sentado –
afirmou, antes de perguntar: – Tens cigarros?
Carol não tinha.
– Mas posso trazer amanhã.
O piloto encolheu os ombros: – Amanhã estarei morto.
A minha prima engoliu em seco, o homem parecia mesmo
desanimado.
– Não penses assim.
– Cigarros – repetiu Rover, como se não a tivesse ouvido.
Carol prometeu voltar, apesar de saber que era improvável.
Rover precisava de esperança, concluiu, enquanto saía do hospital.
Era o que faltava em Paris, um mínimo de esperança. As pessoas
pareciam ter desistido, ninguém lutava. Mas podia Carol criticá-las?
Como se enfrenta um mar de lava que desce velozmente na nossa
direção?
8
Paris, 11 de junho de 1940
No regresso à Residencial de Saint-Sulpice, Carol revisitou as
primeiras impressões que Rover lhe causara. Aquela angustiante
lassidão derrotista, cosida à indiferença pela própria morte,
arrepiava-a. Diminuído pela perda da mão direita, Rover recusara a
evacuação. Que estupidez, irritou-se Carol, que vocação tão idiota
para mártir! Fugir, para um inglês, inimigo declarado dos nazis, era
uma obrigação patriótica. Só escapando é que Rover poderia voltar
a lutar, como dissera Churchill, nas ruas, praias ou colinas.
Obviamente, o piloto não escutara o célebre apelo e esperava,
vencido, o seu Juízo Final. Que estranho homem...
Ao entrar na residencial, desaguou num hall que sempre a
incomodara, pois aquela divisão introdutória anunciava um conforto
inexistente lá dentro. Um tapete felpudo recebia os sapatos dos
recém-chegados, que pareciam flutuar em cima de nuvens, luxo que
se evaporava depois da travessia das portas existentes, uma à
esquerda e outra à direita. Além disso, as paredes exibiam quadros
religiosos da Anunciação, de Moisés no Sinai, do Monte das
Oliveiras ou do Presépio, uma explosão colorida que anulava, talvez
intencionalmente, a mesa atrás da qual se sentava a irmã
Bernardette, a feia rececionista que controlava o hall sempre
zangada, como se qualquer movimentação a ofendesse.
Para surpresa de Carol, à antipatia trombuda com que
habitualmente brindava quem entrava ou saía, a freira somou uma
informação.
– Une lettre pour vous – disse, oferecendo-lhe um envelope que
um rapaz das ruas lhe entregara.
– Merci – agradeceu Carol, intrigada.
Quem poderia enviar-lhe uma mensagem? Jean-Luc?
O envelope era parecido com o que Madame Félix lhe dera. Não
tem perdão, que permaneça em Lyon, não tenho saudades, garantiu
a si própria, mesmo sabendo que não era totalmente verdade.
Ao chegar ao quarto, o seu coração trepidou. A mensagem era
de Marcel, reconheceu a letra, redonda e irregular. «Caroline, vai à
porta das traseiras do convento, hoje, às dez da noite.»
Sendo ainda meio-dia, teria uma espera insuportavelmente
longa. E deveria avisar Sara? Decidiu não o fazer. Na posse de um
segredo, há por vezes uma perturbação receosa, uma hesitação no
olhar, uma contração do corpo, um requebro da voz, que nos
denunciam. Os alemães poderiam farejar, por isso esperaria pelas
dez da noite na residencial, o que a impediria de jantar em casa da
amiga, como fizera nos últimos dias, para que a Gestapo não
estranhasse os seus hábitos e, claro, para vigiar o Citroën.
No entanto, precisava de uma boa justificação para a mudança
de rotina, caso os alemães a interpelassem. Sendo a sua última
noite em Paris, diria que estivera a fazer as malas, mas, mesmo
confiante nessa explicação, vegetou horas em ansiedade e só saiu
do quarto para almoçar, à uma da tarde, e depois para jantar, pelas
oito da noite. A única conversa do dia, teve-a com Madre Mary, com
quem se cruzou na copa.
– Passa-se alguma coisa? – perguntou esta. – Estás muito
pálida.
Carol foi vaga, mas Madre Mary tanto insistiu que a obrigou a
revelar o encontro marcado com Marcel.
– Não gosto nada disso – protestou a religiosa. – A Gestapo é
muito bruta, se te apanham...
A minha prima garantiu que só ia ouvir o que Marcel tinha para
dizer e transmiti-lo à amiga.
– É o mínimo que posso fazer.
Imperturbável, Madre Mary pediu-lhe que a acompanhasse
novamente ao gabinete dela, onde retirou um charuto de uma caixa
de madeira pousada num aparador, logo à entrada.
– O último que vou fumar em Paris – acendeu-o com um isqueiro
Zippo, igual aos usados pelos militares americanos, puxando várias
baforadas até que a ponta ficasse em brasa. Terminada a operação,
confessou que aquele hábito adquirido nas Caraíbas era o seu
pecado preferido. – Também gosto de rum, mas... – expeliu o fumo
e lembrou que as mulheres deviam ter muito cuidado com o álcool,
sobretudo as freiras. Na ilha Martinica, muitas religiosas perdiam o
juízo com o rum. – As mulheres casadas também não devem beber,
especialmente se o marido está longe... – rematou antes de
acrescentar, com a testa franzida de preocupação: – O Marcel é
judeu e os nazis odeiam os judeus.
Carol contrapôs que Sara e François eram católicos, tal como
Anne, a mãe deles. E lembrou que Marcel ligava pouco aos hábitos
judaicos, nunca o vira a ler o Talmude ou a ir à sinagoga.
– Mas vai – murmurou Madre Mary, dando mais uma passa no
charuto. – Aprecio a tua lealdade à Sara, mas tem cuidado. Se um
homem mau te ameaçar, não mostres fraqueza.
A Madre do Saint-Sulpice descreveu as noites na Martinica, onde
havia bandos de negros à solta. Quando viajava, levava sempre a
pistola e uma vez tivera de a apontar a três ladrões. Um era mesmo
perigoso, via-se no olhar cruel. Não hesitara, dissera-lhe que atirava
se desse um passo.
– Foram-se embora, os três.
Após um curto silêncio, Carol recordou a exibição da Mauser do
nazi a Mademoiselle Laffitte.
– Ela ficou petrificada.
– A Gestapo também anda a vigiar-te – avisou a Madre.
Vira os alemães à coca, várias vezes nos últimos dias. Depois de
nova passa no charuto, prometeu observá-la da janela, quando a
minha prima fosse falar com Marcel. Assim reconfortada, sabendo
que um par de olhos amigos a seguiam, Carol saiu pela porta das
traseiras do convento precisamente às dez da noite e esperou.
A temperatura estava agradável naquele junho atribulado, mas
vestira um casaco leve, pois era friorenta, como a mãe fora. De
repente, apareceu um vulto à esquina, a dez metros dela. A
pequena rua encontrava-se deserta e o indivíduo aproximou-se,
apressado, até a abordar.
O pai de Sara era normalmente um homem caloroso, que a
abraçava sempre que entrava em casa dele. Mas desta vez não o
fez. Nem parecia o mesmo: encolhido e tenso, o olhar sempre a
saltitar, a examinar a rua. E estava mais magro.
– Caroline, não temos tempo.
Marcel não explicou o que acontecera em Estrasburgo, nem
onde passara os últimos sete dias, já em Paris. Disse apenas que
só ele viera no Citroën. Anne e Raquel permaneciam encurraladas
pelos alemães, que tinham atacado a Linha Maginot.
– Tive de fugir. A Gestapo quer prender-me, vou sair de Paris
esta noite – não iria no Citroën, mas com «pessoas» que o
ajudariam. O carro encontrava-se ali para os filhos fugirem também,
o mais depressa possível. – Mademoiselle Laffitte tem carta. Terá de
guiar o Citroën e levá-los até Bordéus.
Por fim, prometeu estar nessa cidade dali a cinco dias. Eles que
esperassem na pensão L´Oiseau Blanc e que fossem já amanhã,
pois os alemães iam fechar as saídas de Paris.
– Vão perguntar pela mãe e pela avó – lembrou Carol.
O pai de Sara fechou os olhos e a minha prima sentiu-o torturado
por uma culpa cuja origem desconhecia.
– Farei tudo para as tirar de lá, mas tive de fugir sem elas. Não
digas à Sara e ao François, iam odiar-me para sempre.
Algo mesmo grave devia ter acontecido para aquele marido tão
atencioso ter deixado a sua amada cercada pelos alemães. Os
olhos de Marcel iluminavam-se sempre que Anne entrava na sala,
havia nele uma adoração permanente pela mulher, de quem até os
filhos tinham um ligeiro ciúme. Uma vez, Carol ouvira Sara jurar que
o pai beijaria o chão que a mãe pisava se esta lho pedisse, era um
tolo apaixonado. Aliás, acrescentara a amiga, era por o pai lhe ligar
tão pouco que François estava sempre a dizer palavrões e a pregar
partidas idiotas.
Um amor assim não se deixava para trás, a não ser que a vida
estivesse em risco, concluiu Carol, enquanto recebia a chave do
Citroën e antes de Marcel lhe virar as costas, desaparecendo ao
virar da primeira esquina. De coração mirrado, a minha prima
guardou a chave no bolso do casaco e decidiu ir de pronto a casa
dos amigos, sem sequer olhar para trás, para a janela donde Madre
Mary a observava.
Se o tivesse feito, veria a cara alarmada desta, que reparara que
um dos alemães se aproximava, vindo da avenida. Ainda tentara
abrir a janela para chamar «Carrô, Carrô!», mas não fora a tempo, o
nazi já estava a cinco passos da minha prima.
9
Paris, 11 de junho de 1940
Se há vários momentos na vida de Carol que merecem a minha
admiração, por demonstrarem coragem, habilidade, rapidez de
raciocínio e de ação, este foi certamente o primeiro. Com a chave
do Citroën no bolso, ela era extremamente vulnerável. Aliás, se os
alemães a têm apanhado ali, a história que conto teria levado um
rumo diferente. Porém, em vez de se dirigir a casa de Sara, a minha
prima deu de repente uma volta de cento e oitenta graus e reentrou
no pátio do convento, impedindo o nazi de a confrontar.
A correr, dirigiu-se ao armazém da residencial, abriu o cadeado
da Hirondelle e escapuliu-se pela zona de acesso à igreja, invisível
ao alemão que a seguira e aos que continuavam no Mercedes.
A partir daí, pedalou até à Rue du Four e entrou no Boulevard
Saint-Germain, onde, depois de avançar dez quarteirões, virou à
direita, para a Rue de Condé, dobrando a meio desta mais uma
esquina no mesmo sentido, o que lhe permitiu chegar à pequena rua
das traseiras da casa de Sara.
Quando me descreveu este arguto estratagema, Carol admitiu
ter-se inspirado no ataque à Linha Maginot, decidindo aparecer
onde menos a esperavam, como os alemães. Entusiasmada com o
feito, tocou à porta dos fundos, mas o olhar de quem a veio abrir,
Mademoiselle Laffitte, carregou-se de frustração por não ser Marcel
quem surgia.
– Oh, c´est toi! Quel dommage! – desafinou a governanta.
Envolta num roupão escarlate de veludo, trazia nos pés um par
de chinelos da mesma cor e tecido e, no cabelo, a vaidosa senhora
colocara uma rede, para não se despentear durante o sono e evitar
um trabalhão matinal em laca e escova.
– Porque não vieste jantar? – entoou, ofendida com a ausência
nessa noite.
– Onde está a Sara? – quis saber a minha prima.
Mesmo insatisfeita por não ter sido esclarecida, Mademoiselle
Laffitte precedeu Carol até ao quarto da amiga, onde esta a
esperava de pé. Atento aos rumores da casa, o irrequieto François
apareceu logo, também ainda vestido com as roupas do dia.
– Oh la la, c´est la révolution! – cantarolou a governanta. –
Deviam estar em traje de noite!
– O que aconteceu? – questionou Sara.
Carol reportou o encontro com Marcel.
– A chave...
Quando a entregou à governanta, esta pegou nela com a ponta
dos dedos gorduchos, como se tivesse nojo.
– Guiar o Citroën? – papagueou, teatral e dramática. –
Impossible! – não pegava num volante há anos e conduzir era coisa
de homens, não de mulheres já passadas da flor da idade!
Sara interrompeu-a bruscamente.
– O meu pai deixou a minha mãe em Estrasburgo?
– O teu pai é judeu, os alemães querem prendê-lo, não à tua
mãe – justificou Carol. – Para não colocar em risco a vida dela, teve
de fugir sozinho.
– Elas ficaram em Estrasburgo? – indignou-se François.
Fora o que o pai deles dissera, repetiu a minha prima, insistindo
que Mademoiselle teria de guiar o Citroën até Bordéus, onde os três
esperariam por Marcel na pensão L´Oiseau Blanc.
– Porque é que o meu pai não vai connosco? – questionou Sara.
Irritado, François apelidou a irmã de estúpida. A Gestapo estava
na avenida, o pai seria preso mal se juntasse a eles!
– Têm de partir amanhã, foi o que o vosso pai disse. Os alemães
vão bloquear Paris! – garantiu Carol.
– Amanhã? – agitou-se Mademoiselle Laffitte.
Não tinha tempo para fazer as malas, sobretudo a sua,
demorava horas a encher um pequeno nécessaire. A que horas
partiriam, perguntou a Carol, em quem reconhecia uma autoridade
nova, como se a minha prima, só por ter falado com Marcel, fosse o
próprio patrão.
– Pode ser à tarde?
– Impossível! – exclamou François. Se atravessassem a rua
carregados de malas, a Gestapo perceberia que alguém lhes dera a
chave de um carro alheio.
– Tens razão – sorriu Carol. – Ninguém pensou nisso.
Fez-se silêncio no quarto, enquanto os quatro consideravam
hipóteses diferentes para a saída de casa. Após as sugestões de
François e de Mademoiselle, demasiado arrojadas, foi Sara quem se
lembrou da mais segura. Iam à missa ao convento, às dez da
manhã. E não voltavam a casa, entravam no Citroën e partiam.
Porém, imaginar a partida de Paris sem as suas roupas era
doloroso para Mademoiselle Laffitte, sempre tão ciosa do seu
aspeto.
– Até chegar a Bordéus são vários dias! – cantarolou. – Esperam
que vá de roupão escarlate?
Em momentos de grande tensão, por vezes um inesperado
detonador faz libertar gargalhadas, uma forma saudável de o corpo
reduzir a ansiedade que o atormenta. Imaginarem Mademoiselle
Laffitte a conduzir o Citroën azul de roupão e chinelos escarlates
levou todos às lágrimas, até a própria, que ainda acrescentou: –
Escarlate com azul, horrible!
Quando acalmaram, Carol prometeu vir buscar os sacos deles
na Hirondelle, em três viagens. Pelo caminho que hoje tomara os
alemães não a veriam, por isso pediu aos amigos que deixassem os
sacos junto à porta das traseiras.
– Podes sempre trepar o portão – sugeriu o malicioso François. –
Os vizinhos vão gostar.
Carol revirou os olhos. Aquele rapaz de catorze anos só pensava
em rabos, pernas ou seios de raparigas. Ainda assim, ao imaginar-
se em cima do portão, de saia curta e cuecas à mostra, lembrou-se
de que, quando Rover lhe perguntara «o que deseja?», ela olhara
para a cama. Sentiu-se de novo a corar, mas, por sorte,
Mademoiselle Laffitte já falava com François, que não notou o seu
rubor, o qual, no entanto, não escapou a Sara.
– Então? – murmurou esta. – Saudades do Jean-Luc? – Carol
praguejou e a amiga sorriu. – Porque não vens connosco para
Bordéus, em vez de ires para Clermont-Ferrand com as freiras?
Confusa, Carol prometeu pensar no assunto. Porém, cinco
minutos depois, enquanto saía de casa pela porta das traseiras,
ainda estava tão desconcentrada que cometeu um erro parvo. Em
vez de tomar o caminho por onde viera, virou para a avenida. Só se
lembrou dos alemães quando o chefe destes a parou, a quinze
metros do pátio de Saint-Sulpice.
– Mademoiselle, queira desmontar – ordenou o nazi, de olhar
gelado e casaco aberto, exibindo a ameaçadora Mauser.
– Que se passa? – perguntou a minha prima.
Desta vez, o homem apresentou-se: – Coronel Schlezinger, da
Gestapo – estava à espera de Monsieur Marcel há vários dias, como
decerto ela tinha reparado. – Sei que é amiga da filha dele. – Carol
ainda confirmou que costumava jantar em casa de Sara, mas o
coronel interrompeu-a. – Hoje veio mais tarde.
A minha prima forçou o espanto e negou que tivesse vindo de
casa da amiga, jurando que comera com colegas num bistrô.
– Jantou com o homem que conversou consigo às dez da noite,
nas traseiras do convento? – interrogou o nazi, endurecendo o tom
e acercando-se ainda mais dela, tanto que Carol lhe cheirou o
perfume e até o hálito, ambos com um travo de tabaco. – Como
sabe, a França perdeu a guerra. Amanhã os nossos panzers
estarão aqui e iremos perseguir os criminosos e os mentirosos –
ameaçou o coronel, antes de lhe perguntar: – Porque se mete onde
não é chamada? É portuguesa, não é judia.
A questão ficou a pairar no ar sem resposta, até que se ouviu
uma voz, proveniente do pátio do convento.
– Carrô!
Era Madre Mary, que se acercava, com a preocupação
estampada no suave rosto. Como explicou depois à minha prima,
descera do primeiro andar, mantivera-se à coca e finalmente
considerara aquele o momento certo para intervir.
O coronel alemão examinou-a, enquanto se afastava um pouco
de Carol, que continuava montada na sua bicicleta.
– Quem é o senhor e o que deseja? – perguntou a Madre.
– Em breve vai saber – respondeu Schlezinger, mostrando-lhe
também a ameaçadora pistola. Mas, como a religiosa não se
intimidou, afastou-se a caminho do Mercedes preto.
– Vamos, Carrô – disse Madre Mary, abraçando a minha prima
com ternura. Pouco depois, ao entrarem no pátio, acrescentou em
voz baixa: – Tens mesmo de partir amanhã.
10
Paris, 12 de junho de 1940
Por vezes, aquilo que esperamos não acontece. Um exame é
desmarcado, um comboio atrasa-se, a chuva prevista afinal não cai.
Na maior parte dos casos, a frustração da expectativa não passa de
um ligeiro contratempo, rapidamente esquecido. Contudo, há
situações em que um não acontecimento pode ter consequências
extremas. Foi o que se passou na manhã em que os amigos de
Carol haviam combinado ir à missa.
O plano pressupunha que o Mercedes da Gestapo estivesse
parado na rua principal e, portanto, foi com surpresa que François
descobriu que o carro alemão não se encontrava lá. Incapaz de
parar quieto, reabrira uma das janelas, contrariando as ordens de
Mademoiselle Laffitte, que na véspera encerrara as portadas do rés-
do-chão e do primeiro andar. Depois, avisou as companheiras de
fuga de que afinal podiam levar os sacos até ao Citroën.
– Oh, la, la, mais c’est la folie! – trauteou agitada, mas também
agradada, a governanta, trazendo para o átrio uma mala, dois
nécessaires e ainda uma caixa de papelão redonda.
– Vai levar um chapéu? – espantou-se François.
Enquanto a visada barafustava em cantoria, Sara exigiu a ajuda
do irmão e os dois saíram porta fora, cada um carregando um saco
e um nécessaire, seguidos pela nervosa governanta, que fechou a
porta do grande casarão à chave, antes de agarrar na mala, no
saco, nos dois nécessaires e na caixa do chapéu.
Num dia normal, aquele trio teria parecido extravagante, pois as
pessoas ricas que viviam no quartier dispunham de criadas e
motoristas para lhes carregarem a bagagem. Contudo, Paris não
vivia dias habituais e a rua encontrava-se pejada de famílias
inteiras, que cirandavam numa roda-viva frenética, à volta dos seus
carros, enquanto o asfalto se cobria de muitos outros automóveis,
cujo avanço não se afigurava fácil, pois naquela e nas avenidas
próximas o trânsito já era excessivo, lento e todo no mesmo sentido:
o sul.
Arrumados os haveres na bagageira, Mademoiselle Laffitte
retirou o chapéu da caixa e pousou-o na cabeça, sentando-se
depois no lugar do condutor e colocando a chave na ignição, com a
convicção de quem sabia perfeitamente o que fazer. O motor
roncou, mas Sara, ainda fora do Citroën, quis avisar a minha prima,
como combinado na véspera. Contudo, Mademoiselle não a
autorizou. Mal colocara as mãos no volante, operara-se nela uma
metamorfose. Habitualmente, era hesitante ou pelo menos prudente
em excesso, mas, investida nas suas novas funções de motorista,
nasceu uma mulher de voz firme e seca, de espírito determinado e
imperativo.
Espantada e submissa, Sara entrou no carro, enquanto ouvia
dizer que, a partir daquela hora, os dois irmãos teriam de seguir sem
contestação as instruções da condutora.
– L´autorité c´est moi! – afirmou esta, sem cantarolar.
Por mais que Sara protestasse, alegando que não se fazia uma
coisa daquelas a uma amiga, ir-se embora sem lhe dizer nada,
Mademoiselle Laffitte mandou-a calar.
– On ne discute pas pendant la guerre! – justificou-se, iniciando
uma manobra inesperada com o Citroën, que apontou às pequenas
ruas laterais.
Quando passaram pelas traseiras do convento, vendo por lá uma
das freiras, a condutora buzinou três vezes. A informação iria
circular, garantiu. As religiosas contavam tudo umas às outras,
sabia-o, pois vivera num convento em jovem. A que ouvira as
buzinadelas do Citroën iria contar a outra, que falaria com uma
terceira e por aí fora até chegar aos ouvidos de Madre Mary, que
naturalmente iria esclarecer Carol. Perante a evidência da partida do
Citroën, a minha prima facilmente compreenderia os inesperados
motivos que a haviam justificado.
– É finíssima de espírito! – sentenciou Mademoiselle Laffitte.
E na verdade foi isso que aconteceu, ou algo muito semelhante.
A irmã Bernardette estava no pátio a fechar os portões, pois a sua
função principal extinguira-se com o encerramento da Residencial
de Saint-Sulpice. Atenta, como se espera que uma rececionista
seja, ouvira os três toques do Citroën azul. Por isso, quando Carol
se queixou a Madre Mary da ausência dos amigos na igreja, as
freiras parlamentaram entre si e rapidamente ficaram esclarecidas.
– Os alemães também não estão cá – notou a Madre.
No final da missa e já na avenida, ela e Carol observaram a
confusão geral, que se estendia até aos Jardins do Luxemburgo. Foi
nesse momento que a religiosa comparou a população de Paris à de
uma pequena aldeia no sopé de um vulcão, numa ilha do Pacífico,
cena que vira num filme americano recentemente, pois gostava de ir
ao cinema ao sábado à tarde. Conformada, Madre Mary respirou
fundo.
– Agora é a nossa vez.
Regressaram ao pátio, onde permanecia a Hirondelle. A minha
prima colocara a roupa num saco, pousando-o no pequeno cesto à
frente do guiador.
– A Polly diz que não há espaço para malas.
Madre Mary olhou-a, preocupada.
– É melhor vires comigo.
As freiras apertavam-se nos bancos de trás, ir até ao hospital no
meio daquela anarquia era perigoso.
– A Polly garantiu-me que a bicicleta vai nos camiões! Não deixo
Paris sem a Hirondelle – repetiu a minha prima.
– Não sejas teimosa, vem connosco – insistiu a Madre.
Carol invocou a combinação com a americana, não iria embora
sem lhe dizer nada.
– Não faças aos outros o que não gostas que te façam a ti...
– As boas maneiras são as primeiras vítimas da guerra – ainda
relembrou Madre Mary, antes de se dar por vencida e oferecer um
derradeiro conselho. Se a minha prima se visse em sarilhos, devia
fazer-se à estrada de bicicleta. Elas iam sair pela Porta de Orleães,
na direção de Étampes. Como o trânsito andava a passo de caracol,
a Hirondelle apanhava a camioneta em três tempos.
A minha prima reparou que os olhos bondosos da Madre
estavam marejados de lágrimas, mas nem isso a demoveu. Montou
na bicicleta e avançou para a avenida. Viu Madre Mary entrar na
camioneta e sentar-se ao volante. O veículo iniciou a manobra, mas
era tal a intensidade do tráfego que foi necessário uma das
religiosas fazer de sinaleiro.
Quando por fim a camioneta arrancou, Carol teve um mau
pressentimento. Inquieta, deu aos pedais, mas depressa concluiu
que seria mais rápido circular no passeio do que na rua. O número
excessivo de veículos transformara o asfalto num sarilho
monumental. As zangas típicas da conflitualidade rodoviária, sempre
na iminência de estalar todos os dias, explodiam agora com maior
facilidade. Homens de punho fechado, mulheres aos gritos de mão
na anca, ranger geral de dentes e constantes promessas de
violência, tudo se repetia em cada nova rua ou gigante avenida,
numa arenga global que era ao mesmo tempo diferente, variavam
os inflamados protagonistas em cada local, mas também repetitiva,
sendo as mesmas as atitudes humanas.
No passeio, outros perigos nasciam. Por diversas vezes, Carol
teve de travar bruscamente a Hirondelle, para evitar atropelar os
velozes fugitivos que saíam, disparados, dos edifícios. Homens e
mulheres e até crianças corriam rumo à rua sem olharem para o
lado, tão ansiosos por entrar nos carros ou nas camionetas que
deixavam cair peças de roupa ou peluches, sapatos ou talheres,
mantas ou relógios. Um rasto de pertences domésticos era
abandonado nos passeios, que se transformavam num campo
minado, obrigando Carol a atenção redobrada para não furar os
pneus.
Quase uma hora depois, quando atravessava os Campos
Elísios, ouviu um ronco inesperado. A baixa altitude, um pequeno
avião com a cruz negra alemã sobrevoava o Louvre e a Praça da
Concórdia, curvando depois por cima do Palácio do Eliseu.
Espantada, pareceu-lhe que o piloto fazia um breve reconhecimento
da zona, para escolher onde aterrar.
«Que loucura, como é que se atreve?», questionou-se a minha
prima, enquanto acompanhava a longa inflexão do aparelho para a
direita, que o fez desaparecer por uns segundos de vista, por cima
do Boulevard Haussman, ressurgindo de novo sobre os Campos
Elísios, onde iniciou uma descida final, até pousar no asfalto.
Dois minutos depois, o avião imobilizou-se junto de um dos
monumentos mais célebres do mundo, o Arco do Triunfo, uma
celebração da gloriosa história militar dos franceses agora
transformada num prisioneiro gigante, humilhado pela perícia de um
arrojado piloto germânico. Aos vencedores de uma guerra, tudo é
permitido, concluiu Carol, quando o viu acenar uma bandeira nazi.
Paris era deles!
Triste e desanimada, apontou a Hirondelle na direção do hospital
e, ao aproximar-se do Parque Monceau, verificou, aliviada, que por
ali a confusão era menor. A maioria dos moradores já devia ter
partido, pois havia poucos carros nas ruas. Contudo, uma sensação
desagradável apoderou-se dela, pois tanto silêncio e calma
pareceram-lhe suspeitos. E, ao virar a última esquina, em
Courcelles, o seu corpo petrificou-se de tensão. O hospital estava
vazio, não se viam camiões à porta, nem ambulâncias paradas nas
ruas laterais, ninguém a entrar ou a sair. O edifício fora abandonado.
11
Paris, 12 de junho de 1940
A porta principal do hospital encontrava-se aberta de par em par
e Carol avançou pelos corredores, com a Hirondelle pela mão.
Chamou várias vezes por Polly, mas ninguém lhe respondeu, e no
primeiro andar, aonde subiu, também não viu vivalma.
Desolada, sentou-se num banco. Madre Mary tinha razão, a
americana não era fiável. Tal como Jean-Luc e Sara. Os três
haviam-na deixado. O namorado era um palerma sem desculpa,
Polly quebrara a promessa que fizera, mas também Sara lhe
falhara. Enfrentara o coronel Schle... não sei quantos, prometera
tratar-lhes dos sacos e nem uma palavrinha, três buzinadelas e
adieu!
Porque não escutara as sábias palavras de Madre Mary, que
ainda há pouco lhe oferecera um lugar na camioneta? Derrotada,
observou a dupla roda dentada da sua bicicleta, o sistema Retro-
Direct, que permitia pedalar para a frente e para trás. O que podia
fazer agora? Provavelmente, Polly substituíra-a por Michael, um
parvo cheio de lábia, cujas manhas lhe lembravam as do pai,
incapaz de amar uma única mulher e não qualquer rabo de saia que
lhe passava à frente.
Quando se ouviu a suspirar mais uma vez, concluiu que se
tornara numa perita em suspiros. Suspiros cansados, entediados,
irritados, calmos, desiludidos com a estupidez dos machos...
Abatida, sem saber bem porquê, levou a mão ao bolso do casaco e
os seus dedos tocaram no maço de Gauloises que prometera ao
inglês. Estaria ele ainda no hospital? Colocou o cadeado na
Hirondelle e avançou pelo corredor que visitara na véspera, até
chegar ao penúltimo quarto, onde viu a mesma mulher, debruçada
sobre a mesma cama.
– Morreu? – perguntou em francês.
A senhora acarinhava o cadáver, talvez fosse mãe dele. A minha
prima ouviu-a dizer mais palavras incompreensíveis, antes de beijar
na testa o homem e sair do quarto. Carol suspirou (desta vez de
compreensão), benzeu-se e saiu também. Depois e tal como na
véspera, empurrou a porta de Rover.
O inglês estava sentado na mesma posição, com o braço sem
mão para trás, como que escondido, as pernas esticadas e
pousadas em cima da cama, mas desta vez sem as botas calçadas.
O gato cego encontrava-se igualmente no mesmo local e virou-se
de novo para ela, com aqueles olhos que pareciam berlindes,
rodando depois o pescoço na direção do inglês, à espera que lhe
atirassem a bola de trapos.
Parecia um déjà vu, exceto num segundo detalhe, além das
botas: a mão esquerda de Rover segurava uma pistola, cujo cano o
inglês enfiara na boca.
– Não! – gritou Carol.
De olhos fechados, o piloto demorou a reagir, como que
contrariado pela interrupção do seu último ritual. Durante alguns
segundos, hesitou entre premir o gatilho ou dar mais uma
oportunidade à vida. Quando finalmente abriu os olhos, retirou o
cano da boca e baixou o braço e a pistola.
– Podes levar o gato? Alguém terá de lhe dar de comer.
Carol ignorou a pergunta.
– Sabes da Polly? Prometeu que me levava de Paris. É uma
enfermeira americana e...
Rover interrompeu-a: – Ruiva e atiradiça?
Carol sorriu, afinal o inglês reparara.
– Onde está?
Ele abanou a cabeça.
– Foram-se todos embora durante a noite. Só ficou a velha do
quarto ao lado, mas o filho morreu e agora também ela partiu.
A minha prima mostrou-lhe os Gauloises.
– São para ti.
Espantado, o inglês agradeceu: – Obrigado. As últimas
vontades...
Pousou a pistola no chão e pediu que ela lhe atirasse o maço. O
gato ainda se agitou, preparando os músculos das patas, mas como
não escutou o barulho da bola a cair no linóleo relaxou.
Rover apanhou os cigarros no ar e Carol viu os longos dedos
dele executarem várias operações seguidas com destreza. Primeiro,
pousou o maço na perna, abriu-o e puxou um cigarro, que levou à
boca. Depois, retirou do bolso das calças uma caixa de fósforos e
pegou num, cuja cabeça raspou, até surgir a chama com que
acendeu o cigarro.
– Vinte destes... Dá para adiar o fim umas horas – disse ele,
após a primeira passa.
– Não o faças – pediu Carol.
Rover deu uma segunda passa, mais prolongada. Fez uns óóós
com o fumo, colocando os lábios numa posição semelhante à de há
pouco, quando envolviam o cano da pistola.
– Não darei aos nazis o prazer de me fuzilarem. Honra e
dignidade na morte, essas coisas...
Carol encostou-se à cama, donde ele não retirara os pés
descalços.
– Podes vir comigo. Tenho uma bicicleta.
Rover examinou-a, curioso.
– Donde és? – ela falava inglês sem sotaque ou pronúncia, não
devia ser francesa.
Carol explicou-se: aprendera a língua de Shakespeare em
Lisboa. «My darling, you are getting better everyday», encantava-se
Miss Edelman, a professora que a mãe lhe arranjara.
– Sou portuguesa.
– Estás longe de casa – comentou Rover, dando mais uma
passa.
– A Polly foi para Orleães? – perguntou a minha prima.
O inglês não a soube esclarecer. A evacuação fora caótica. Na
véspera, haviam sido retirados os feridos graves, supostamente
levados para um hospital, em Versalhes.
– Um triste destino, quem lá vive costuma acabar decapitado! –
comentou o sarcástico piloto. Mas a meio da noite o pânico
instalara-se, quando se soube que os alemães estavam a trinta
quilómetros de Paris.
– Cada um fugiu como pôde, para Tours, para o Sul, sei lá eu.
Orleães? Talvez...
– As freiras do meu convento vão nessa direção – contou Carol.
Rover mirou-a, como se a tivesse finalmente compreendido.
– Daí a tua compaixão...
Ela esclareceu que, apesar de morar na Residencial de Saint-
Sulpice, não era freira, mas estudante universitária. O inglês
pareceu agradado.
– Churchill prometeu que vocês iam lutar nas praias, nas ruas,
nos campos, nunca se renderiam – recordou Carol. – Se te matares,
vais desapontá-lo.
Um zangado Rover retirou o braço direito de trás das costas e
mostrou o coto.
– Perdi a mão, nunca mais vou poder guiar um Spitfire, a única
coisa que sei fazer bem!
– Não é verdade... – ripostou Carol, apontando para o gato cego.
– Deste-lhe de comer, brincas com ele, tem uma boa vida contigo.
Como se chama? – perguntou ajoelhando-se para fazer umas festas
ao pequeno felino.
– Chamberlain – disse o inglês. – Em honra do nosso anterior
primeiro-ministro, um cego que foi enganado por Hitler, em Munique.
Devias levá-lo.
Carol duvidou:
– Não me conhece, nem tem razões para te deixar. Mas se
vieres, ele também vem.
Rover baixou os olhos e a minha prima sentiu o dilema dele.
Decidira colocar um fim à vida, mas um sopro de esperança
aparecera, ténue e frágil. O natural instinto de sobrevivência do ser
humano obrigava-o a rever as opções.
– Um homem está à beira de um precipício e tem três ferozes
tigres à frente, prontos a atacá-lo. O que deve fazer? – perguntou o
piloto. – Atira-se para o abismo ou deixa que os tigres o matem?
Carol pensou uns segundos.
– Os tigres ainda não chegaram.
– Boa resposta – classificou Rover. – E estás a pensar fugir dos
alemães de bicicleta?
Ela confirmou, provocando um ar de gozo no piloto, que sem
aviso levantou os pés da cama, pousando-os no chão, um sinal que
a minha prima interpretou de uma forma positiva, até porque, de
seguida o inglês pegou nas botas e começou a calçá-las.
– Um soldado nunca se mata de botas – murmurou, adiantando
que os alemães estavam a entrar em Paris por aquela área,
chegariam depressa ao hospital. – Não temos muito tempo.
– A minha bicicleta está no corredor – informou ela.
– Não posso fugir durante o dia – queixou-se o piloto, que estava
ainda fardado, com camisa, calças e agora também de botas. – Se
me passeio por Paris assim, é tiro ao pato...
Carol sugeriu que procurassem no hospital roupas que lhe
servissem, talvez uma bata de médico.
– Branca? – inquiriu Rover, surpreendido.
Ela baixou os olhos, envergonhada.
– Foi só uma sugestão.
Então ele levantou-se, um Lázaro ressuscitado, caminhando na
direção da porta. O gato cego seguiu-o, tal como Carol, que o viu
enfiar a pistola no cinto, atrás das costas.
12
Paris, 12 de junho de 1940
Durante a tarde, os dois procuraram nos quartos, nas salas de
operações e até na morgue, mas, embora encontrassem roupa
masculina variada, ou estava suja de sangue, urina ou excrementos,
ou não era do tamanho de Rover, que media um metro e oitenta e
cinco e calçava quarenta e quatro, além de ser esquisito nos gostos,
pois rejeitou um casaco por não ter bolsos interiores e uma camisa
branca por apresentar as iniciais B.G. gravadas do lado esquerdo.
– Ainda se fosse um érre.. – resmungou, impaciente com a
busca infrutífera. – Já volto.
Chamberlain seguiu-o pelo corredor e, durante dez minutos,
Carol ouviu portas a bater e rodas a rolar sobre o linóleo. Quando
ele voltou, vestia camisa, casaco e calças azuis.
– Não acredito! – murmurou ela, reconhecendo as roupas.
Rover encolheu os ombros.
– Achas que lhe vão fazer falta? Até lhe prestei um serviço, levei-
o para a morgue numa maca!
As três peças de roupa pertenciam ao cadáver do quarto ao
lado. Provavelmente, fora a mãe que o vestira e como, por
coincidência, ele tinha a altura de Rover, este despira-o sem,
contudo, lhe retirar os sapatos.
– Nem os pus, mas decerto ficavam-me apertados – justificou-
se.
A minha prima mirou a porta do hospital.
– E se a mãe voltar?
– Não volta – garantiu Rover. – Os alemães já estão em Paris –
escutara motores na rua e espreitara por uma janela entreaberta.
Quatro motos com side-car avançavam lentamente pelo asfalto, os
soldados com as metralhadoras prontas a disparar. – Temos de ficar
aqui até à noite.
Eram cinco da tarde, teriam de esperar pelas nove, ordenou
Rover, compondo as calças.
Carol percebeu que ele se sentia desconfortável de azul, como
um espantalho que dava nas vistas. Há meses que não se vestia à
civil e, talvez por isso, mantivera as botas, como derradeira garantia
de que a identidade de piloto não era definitivamente adulterada.
– Tens fome? – perguntou Rover.
Fizeram uma batida à cozinha do hospital, onde descobriram
carne, pão, batatas, legumes e sopa, prontos para serem servidos.
Ligaram o fogão e jantaram sentados em bancos, com os pratos e
os copos pousados à frente, numa mesa grande.
– Para sair pela Porta de Orleães, temos de atravessar os
Campos Elísios e o Sena – informou Carol.
Rover confiava nela, por não conhecer Paris, pois após a
chegada, na ambulância de Polly, permanecera no hospital.
– Consegues pedalar comigo atrás? – como ela garantiu que já
levara colegas da universidade, ele sorriu. – És muito ciosa da tua
bicicleta.
Carol recordou-lhe as tentativas de roubo da Hirondelle, na
última semana muitos parisienses tinham perdido o respeito pela
propriedade alheia.
– É assustador.
– Ainda não viste nada – afirmou Rover. – A guerra mete muito
medo e nada nos endoidece tanto como o medo.
– Tiveste medo, quanto o teu avião caiu?
Ainda antes desta pergunta, Carol reparara que ele tinha
dificuldade em cortar um bocado de carne, por isso tomou a
iniciativa de a fatiar, devolvendo o prato depois da operação
executada. Rover baixou os olhos, como se aquela fosse uma prova
humilhante da sua incapacidade, mas depois atirou um pedaço ao
gato.
– Come Chamberlain, pode ser a última vez!
Enquanto Carol colocava o seu prato num grande lava-louça, o
piloto levou à boca a carne que ela cortara.
– Nunca tive medo – disse a mastigar ao mesmo tempo. – Nem
quando fiquei preso no telhado – com extrema dificuldade, libertara-
se do para-quedas, descera e caminhara mais de três quilómetros,
até ser recolhido pelas tropas francesas. Tinha a mão direita
destruída, mas fizera um torniquete no antebraço e estancara o
sangue. – Estamos preparados para ser abatidos. Eram três
Messerschmitt, nem dei luta... – no hospital, tinham-lhe amputado a
mão e isso fora o pior de tudo. Não a dor, a morfina anestesiara-o,
mas a perda de um membro essencial para voltar a voar. – Desde
esse dia que penso em matar-me – reconheceu. Mantivera a pistola,
tal como a farda, permanecendo abúlico numa cama, num hospital
algures no Norte de França, até ao dia em que o enfiaram na
ambulância de Polly.
– Porque não o fizeste? – perguntou Carol. Como ele se
manteve calado, ela voltou a questioná-lo: – Não tens família em
Inglaterra?
Rover disse ser filho único de pais já falecidos. A Royal Air Force
era a sua família, já há vários anos.
– Não tens mulher ou namorada? – insistiu ela.
– Não tive tempo para isso, estamos em guerra. Pelo menos o
meu país, acho que o teu não está – provocou ele. Quando a minha
prima explicou que Salazar anunciara a sua neutralidade, Rover
exibiu uma careta cética. A Holanda também era neutral, mas não
lhe servira de muito. Os exércitos nazis não respeitavam nenhum
princípio, Portugal não estava a salvo de uma invasão. – O que vos
vale é estarem longe.
Nesse momento, ouviram a explosão de uma bomba e o piloto
irritou-se: não percebia porque é que os nazis ainda bombardeavam
Paris, pois os franceses não ripostavam.
– Quando vinha para cá, vi um alemão aterrar junto ao Arco do
Triunfo – contou Carol. – Depois, colocou-se em cima da asa e
ergueu a bandeira dos nazis. Vermelha, com a suástica preta dentro
de um círculo branco.
– Que avião era? – quis saber Rover. A minha prima descreveu o
pequeno aparelho e a manobra executada por cima do centro de
Paris. – Aterrar numa cidade não é para todos... – disse ele. Mesmo
sendo nazi, aquele piloto era digno de admiração, devia ser da velha
escola. Os alemães tinham aviões muito rápidos, mas ele ainda
abatera cinco, na Bélgica, nos dias anteriores a ser atingido. –
Agora não sei como voltar a Inglaterra – reconheceu. – Há tantos a
quererem o mesmo...
– Tens de ir para sul – sentenciou Carol.
– Orleães é para sul? – perguntou Rover. Ela confirmou, mas o
inglês lembrou que os panzers nazis viajavam mais depressa do
que as bicicletas, sobretudo uma que levasse duas pessoas. – Onde
é que me sento?
– Na grelha, atrás de mim – estabeleceu ela.
Pela primeira vez, sorriram ao mesmo tempo. Rover examinara
brevemente a Hirondelle, mas só agora conhecia o lugar que lhe
estava reservado. – E o Chamberlain?
Carol sorriu de novo.
– Vai no cesto, em cima do meu saco. Faço-lhe uma caminha
confortável.
O tempo passou sem darem por isso e eram já nove e vinte
quando se dirigiram para a Hirondelle. A minha prima levou a
bicicleta pela mão até à porta do hospital, onde Rover lhe ordenou
que esperasse, pois só depois de espreitar a avenida é que aceitou
sair. Havia luz em alguns prédios, mas não se via ninguém. Carol
pousou Chamberlain no cesto, em cima do saco. O gato não
protestou, mas os seus olhos cegos procuraram Rover e só relaxou
quando este lhe passou a mão na cabeça.
– Vamos passear… – murmurou o piloto.
Então, Carol montou na Hirondelle e o inglês sentou-se na
grelha, sendo surpreendido pela forma fácil como a bicicleta
arrancou.
– Vês? – orgulhou-se a minha prima.
– As tuas colegas são mais gordas do que eu – brincou Rover.
Ela riu-se, mas, uns metros à frente, deu-se conta da
complexidade do projeto. Teimosa, continuou a pedalar, só que o
inglês sentara-se de lado e o peso dele estava mal distribuído. Além
disso, como tinha apenas mão esquerda, não sabia onde a agarrar,
se no selim, se na grelha. Carol sentiu-o tentar várias posições, mas
nenhuma resultou e os movimentos permanentes e bruscos de
Rover desviavam a bicicleta, o que a obrigava a compensar com
guinadas no sentido contrário.
Numa dessas vezes, a Hirondelle desequilibrou-se de mais,
forçando-a a travar. Assustado, o gato quase saltou do cesto.
– Chamberlain, não! – gritou a minha prima, largando o travão e
parando o gato com a mão, com receio de que caísse ao chão.
Quando a bicicleta voltou a embalar com o movimento, o inglês não
o esperava e, para evitar cair, agarrou o rabo de Carol com
excessiva força, os dedos pressionando o vestido e até as cuecas
desta, que foram também puxadas para trás.
– Rover! – gritou ela, com receio de que o vestido se
descosesse.
O inglês pensou que ela se irritara por lhe ter tocado numa parte
íntima e saltou, atrapalhado, para o asfalto, obrigando Carol a parar.
– Magoaste-te? – perguntou ela. Como o embaraçado Rover
apenas lhe pediu desculpa, ela esclareceu-o: puxara-lhe o vestido
com demasiada força (não referiu as cuecas). – Não foi a mão no
rabo! – riu-se, logo se arrependendo, pois dissera-o como se tivesse
gostado.
– Só tenho uma mão... – justificou-se ele.
Carol não quis dar o braço a torcer perante o fiasco. Sempre
conseguira pedalar com alguém atrás, se bem que Jean-Luc ou
Sara eram mais leves.
– Senta-te no meio da grelha, com uma perna de cada lado –
ordenou. – E agarra-te à minha cintura. Ainda receoso, Rover
seguiu as instruções dela. – Assim estás bem? – perguntou Carol.
Ao ouvir um grunhido aprovador, recomeçou a pedalar e uns
metros à frente os dois riram-se e a tensão desvaneceu-se.
Finalmente em harmonia, atravessaram os Campos Elísios,
desertos àquela hora, já passava da meia-noite. Meteram pelo
Boulevard Saint-Germain e depois viraram para o Saint-Michel, no
final da qual, cerca de um quilómetro à frente, viram muito
movimento. A minha prima apontou para o convento e para a Igreja
de Saint-Sulpice, à direita, mas quando estava a descrever a sua
rotina diária, um grande carro negro acelerou na direção deles.
– O Mercedes! – gritou, apavorada.
13
Paris, 13 de junho de 1940
Como na rua o Mercedes era mais rápido do que a bicicleta, a
minha prima subiu imediatamente para o passeio, enquanto um
espantado Rover se exaltava.
– Quem são?
Carol não lhe respondeu, mas ele reparou nas bandeirinhas
vermelhas junto aos retrovisores, alarmando-se quando viu a pistola
na mão do coronel nazi.
– Cuidado! – gritou, baixando a cabeça.
Ela encolheu-se instintivamente e ouviu uma explosão,
antecedida de um zumbido, como se algo se deslocasse no ar de
forma vertiginosa, até atingir com estrondo a parede de um prédio. A
Gestapo disparava contra eles! Tinham de sair dali depressa!
Contudo, nunca lidara com armas e não fazia ideia de como os
que são treinados para o combate podem reagir. Nem reparou que
Rover, sem perder tempo à espera da segunda bala, saltara da
bicicleta. Sentiu a Hirondelle mais leve e notou a agitação no gato,
mas só quando espreitou para trás é que viu o inglês em pé,
encostado a uma parede, de pistola na mão.
– Rover! – gritou, travando a bicicleta.
Após disparar um primeiro tiro, o piloto apontou-lhe a próxima
esquina, onde devia virar à esquerda. Carol obedeceu, escutando o
chiar dos travões do Mercedes. Os alemães estacavam,
surpreendidos com os disparos na direção deles.
Por sorte, parado no meio da pequena rua e junto à esquina
seguinte, estava um camião grande. Se Rover lá chegasse, podiam
fugir, pois o Mercedes ficaria bloqueado pelo mastodonte. Rápida,
Carol desmontou, encostou a Hirondelle a uma parede e correu de
volta para a avenida, com a intenção de o chamar. Nem cinco
passadas dera quando quase chocou com o inglês, que vinha a
correr na direção dela.
– Esconde-te! – gritou este, com a pistola ainda fumegante na
mão.
Segundos depois, o Mercedes apareceu no início da pequena
rua. Debruçados nas janelas do carro e um de cada lado, o coronel
e o ajudante dispararam as suas armas, mas o piloto ripostou e
Carol admirou-lhe a pontaria, quando um dos vidros laterais do
automóvel se estilhaçou.
– Foge, foge!
A ordem de Rover destinava-se a colocar distância entre os
alemães e eles. O inglês já percebera que o Mercedes não passaria
por ali e disparou mais duas vezes, cobrindo a fuga de Carol, que
subiu para a Hirondelle e pedalou entre os prédios. O coração dela
batia a mil à hora, enquanto ouvia o piloto disparar novamente,
recebendo de volta uma saraivada das duas Mausers, cujas balas
ressoaram no metal do camião.
– Rover! – berrou ela.
Um vulto saiu de debaixo do camião e correu até ela,
informando-a de que continuava a pé. Viraram numa esquina e
depois noutra, por fim numa terceira, sempre em diagonal e
afastando-se do Boulevard Saint-Michel, até que Rover decidiu
regressar à avenida, onde seria mais fácil passarem despercebidos
e o Mercedes ficaria retido pelo forte trânsito.
– Achas que os despistámos? – inquietou-se Carol.
O inglês murmurou que assim esperava, mas, ao virarem para a
Rue du Faubourg Saint-Jacques, ouviram um ronco de motor e,
vindo da direita, surgiu um panzer a alta velocidade.
– Que susto – murmurou a minha prima.
Enquanto o tanque se afastava, Rover reconheceu que aqueles
velozes carros de combate eram a razão da vitória alemã. Graças a
eles, os nazis tinham atravessado as Ardenas de surpresa, cercado
Dunquerque e anulado a Linha Maginot.
– Deram cabo de nós – murmurou, desalentado, antes de
perguntar: – O que se passou ali atrás?
Ainda agitada, Carol resumiu-lhe a história de Marcel e dos
filhos. Referiu o Citroën azul, o Mercedes e o coronel Schlez...
qualquer coisa.
– A Gestapo deve ter pensado que eras o pai da Sara. Estão
furiosos porque deixaram escapar o Citroën – rematou.
– Desconfiam de ti? – perguntou Rover.
O chefe dos alemães tentara interrogá-la na noite anterior, fora
Madre Mary que o impedira.
– Acham que sei onde está Marcel.
Rover observou-a, preocupado. Os homens da Gestapo tinham
má fama, mesmo entre os nazis eram considerados os piores.
– E sabes?
Carol não lhe mentiu: Marcel dissera-lhe que se juntaria aos
filhos em Bordéus, numa pensão.
– Ui – murmurou Rover, desviando o olhar, para que ela não
visse o seu receio.
Até ali e sendo portuguesa, a minha prima não representava
uma ameaça, pois não era um alvo dos nazis. Fugir com ela
apresentava-se viável. Contudo, depois do tiroteio com a Gestapo e
sabendo o que sabia, Carol transformara-se numa companhia
perigosa.
– Se quiseres, vai-te embora – amuou ela.
Rover abanou a cabeça, ainda incrédulo. De seguida, irritado,
atirou a pistola para o chão.
– Não tenho mais balas! Vamos!
Regressaram a Saint-Michel e à retaguarda de um amontoado
desorganizado de veículos, que avançava lentamente. Não viram o
Mercedes, nem motos ou panzers. Pelos vistos, os nazis estavam a
deixar os parisienses fugirem em paz.
– Vamos! – repetiu Rover.
Nas duas horas seguintes, desceram lentamente a Genéral
Leclerc, ela a pedalar e ele a pé, misturados com centenas de
pessoas que também abandonavam Paris. Alternando entre o
passeio e o asfalto, foram ultrapassando os automóveis, que só
avançavam um ou dois metros por minuto. As avenidas eram largas
e, apesar de as faixas contrárias terem sido abolidas, o tráfego não
fluía, pois ia todo na mesma direção.
– Deve ter havido um acidente perto da Porta de Orleães –
comentou Carol.
Rover não concordou, o trânsito afunilava porque Paris inteira
estava a sair para o Sul.
– O que é este fumo? – interrogou-se ela, minutos mais tarde.
O ar da noite fora-se enchendo de uma espessa névoa, tornando
a respiração desagradável. Muitos já tossiam, mas ninguém parara.
Perguntando aqui e ali, ficaram a saber que a polícia de Paris havia
lançado fogo a milhares de pneus. O objetivo do exercício era
impedir a entrada dos nazis na capital francesa, mas o resultado
não fora o pretendido. A cidade caíra nas mãos dos alemães e
queimar pneus revelava-se inútil e estúpido, pois só piorava a vida,
tanto dos que ficavam como dos que fugiam.
– Isto está irrespirável – queixou-se Rover. – Vamos!
Viraram numa das ruas laterais, desta vez para o lado esquerdo,
seguindo por aí, pois o fumo vinha da direita. Foi a decisão certa,
alguns quarteirões depois o ar apresentava-se mais limpo.
– Talvez devêssemos descansar – sugeriu o inglês.
Eram três da manhã e Carol tinha dores nos músculos das
pernas, mas temia que a Gestapo os descobrisse. Contudo, Rover
ignorou os receios dela e entrou pela porta entreaberta de um bistrô.
– O local perfeito para uma soneca – comentou, ao ver um
banco corrido, junto à parede.
Carol encostou a Hirondelle a uma das mesas e retirou o gato e
o saco do cesto. Vira uma placa numa pequena porta a dizer
toilettes e o seu corpo reagira instintivamente. Enquanto se dirigia
para lá, reparou que o inglês já se deitava, depois de tirar o casaco,
mas mantendo as botas calçadas. Era mesmo homem...
Sentada na retrete, recordou o dia louco: a agitação matinal no
Saint-Sulpice, a partida de Madre Mary, a surpresa pelo hospital
vazio, o encontro com Rover. Quem diria que aquele homem estava
há umas horas com uma pistola enfiada na boca, pronto a matar-
se… Desde esse aflitivo momento, roubara a roupa a um morto,
comera bem e despejara o carregador da arma contra a Gestapo,
salvando a vida de ambos. Para quem se queria suicidar, não
estava mal. E ainda se tinha agarrado ao rabo dela!
Carol riu-se: fora uma situação divertida, no meio de tanta
confusão e perigo. Além de que, ali sozinha, podia reconhecer que
tinha gostado daqueles longos dedos a apertá-la! Jean-Luc nunca
lhe tocara nas nádegas, como se fossem vacas sagradas da Índia.
Era um parvo, o namorado. Aliás, nem fazia sentido nomeá-lo
assim, já fazia parte do passado.
Regressou à sala principal do bistrô com uma ligeira expectativa,
mas verificou que Rover já dormia, com a mão esquerda pousada
em cima do peito e a cabeça ligeiramente levantada, debaixo do
casaco. Desiludida, a minha prima deitou-se também, do lado
oposto do longo banco, com os pés virados para os dele e o saco a
fazer de almofada. Chamberlain dormitava enroscado no chão, junto
ao piloto, e Carol sorriu: que estranho duo, um gato cego e um
suicida, que, apesar de só ter uma mão, agarrava no rabo dela com
convicção e disparava tiros com tremenda pontaria!
– Boa noite, Mademoiselle Hirondelle – brincou Rover.
A minha prima sorriu no escuro e retribuiu-lhe a saudação.
PARTE II
VOLTA A FRANÇA
14
Paris, 13 e 14 de junho de 1940
Recordo-me de ter lido, no Diário de Notícias, que naqueles dias
deixaram Paris mais de seis milhões de pessoas. A cidade
esvaziou-se, confirmou-me Carol, comparando-a à Moscovo do livro
Guerra e Paz, de Tolstoi, quando as tropas de Napoleão lá
chegaram. Em pânico, metade da população saiu à pressa, num
êxodo cujo principal destino foram as regiões do Sul de França.
Muitos parisienses tinham família a viver no campo, ou perto de
cidades como Lyon, Clermond-Ferrand, Bordéus ou Nice, mas
mesmo os que não tinham decidiram fugir para sul. Numa semana,
as estradas, principalmente a de Orleães, atulharam-se de milhares
de pessoas e veículos.
Naquele novo dia, Carol e Rover acordaram às nove da manhã.
Na cozinha do bistrô, encontraram pão, leite e até bolos. Pela
segunda vez, tiveram sorte e comeram bem. No fim, o piloto decidiu
levar duas garrafas de água, pois pior do que a fome era a sede,
explicou, enquanto pousava as garrafas no cesto da Hirondelle,
provocando irritação em Carol, que logo as retirou.
– Primeiro tenho de sentar o gato, assim pode magoar-se!
O inglês disse que Chamberlain nem ia reparar.
– É cego, sabes?
– Vai mais confortável assim – garantiu ela, enquanto pousava o
animal próximo do guiador, afastando depois as garrafas para o lado
oposto do cesto.
De regresso à avenida, verificaram que o trânsito aumentara de
intensidade. Centenas de veículos, numa longa e confusa parada,
apertavam-se uns contra os outros, arriscando pequenas colisões.
Tanto para trás como para a frente, só viam capots e gente
pendurada nas janelas, mas também carroças puxadas por cavalos
ou burros e muitas bicicletas, cujos condutores lhes acenavam ao
passarem, manifestando a sua solidariedade em duas rodas.
– Havemos de encontrar outra bicicleta – prometeu Rover.
Apesar de ter as pernas doridas do esforço da véspera, Carol
mandou-o novamente sentar-se na grelha e exibiu uma cara
ofendida perante a oferta dele para pedalar.
– Nesse caso, prefiro ir a pé – ripostou Rover.
Estava bem-disposto, a boa noite de sono e o suculento
pequeno-almoço tinham enxotado as sombras que na véspera lhe
envolviam a alma. Até se queixou de não ter um chapéu para se
proteger do sol.
– Consigo estrelar um ovo na careca – acrescentou.
Carol riu-se para dentro, mas manteve a cara séria. A
temperatura subira não só por causa do sol, mas também devido ao
calor gerado pelos motores dos carros e camiões.
– Finalmente – exclamou Rover, quando passaram a Porta de
Orleães. Aquele funil fora o responsável pela lentidão do trânsito,
como ele previra no dia anterior.
– Sabes tudo – comentou ela.
O piloto observou-a pelo canto do olho, mas não lhe retorquiu,
pois a sua atenção captara uns guardas na zona.
– São franceses?
Quando Carol confirmou serem gendarmes, ele piscou-lhe o
olho, dizendo que afinal não sabia tudo.
– Pelos vistos, precisamos um do outro.
A minha prima corou. Sem ele, teria sido apanhada pela
Gestapo, mas sem ela Rover teria dado um tiro na boca. Algo os
unia, mais do que apenas as circunstâncias.
– Será que agora o trânsito vai andar mais depressa? –
perguntou.
Durante algum tempo, assim pareceu, mas uma hora depois,
perto de Bagneux, a fila de veículos parou subitamente.
– Acidente? – interrogou Carol.
O inglês ignorou a pergunta provocadora.
– Já comia.
Devia ser uma da tarde e nos passeios juntavam-se grupos de
pessoas, umas sentadas no chão, outras de pé. Viram toalhas
estendidas, cobertas de pães, manteiga ou fruta. Muitos partilhavam
o que havia, num altruísmo gastronómico forçado pela situação,
mas outros prosseguiam, ansiosos, não perdendo tempo a
alimentarem-se, embora olhassem com cobiça. Sobretudo os mais
ricos, que viajavam em Bentleys, Oldsmobiles ou Packards,
recusavam juntar-se ao povo de Paris, como se pertencessem a
uma casta superior, que rejeitava a humilhação de pedinchar leite,
fiambre, pão ou maçãs.
Sem se acanhar, Rover aproximou-se de um senhor forte e
gordo, que cortava um presunto com uma grande faca.
Surpreendida mas contente, a minha prima reconheceu aquela cara
redonda, o bigode farfalhudo e o boné castanho. Pertenciam ao
leiteiro que abastecia o Convento de Saint-Sulpice, o afável Louis!
– Bonjour, Mademoiselle Caroline! – saudou este.
Simpático, ofereceu pão e presunto e foi buscar mais leite à
pequena furgoneta, estacionada na esquina seguinte. Saíra de Paris
na véspera e de madrugada apercebera-se das necessidades
prementes da multidão. Então, parara a carripana e decidira
partilhar o que trazia.
– Pergunta-lhe se podemos levar uma garrafa de leite para o
Chamberlain – pediu Rover, com a boca cheia de pão e presunto.
Louis concordou, os animais também precisavam de alimento.
– A camioneta do Saint-Sulpice passou por aqui de manhã –
acrescentou.
Madre Mary era uma senhora cheia de genica. Não dormira um
minuto, mas continuava firme e ao volante.
Ainda bem que as freiras iam a caminho de Orleães,
tranquilizou-se Carol, apesar do mau pressentimento que ainda
recordava.
– Quando me acabar o leite, o pão e o presunto, sigo para Tours
– afirmou Louis com mais um sorriso, dizendo que ficaria por lá
durante as semanas seguintes, até poder regressar.
Terminada a refeição, e vendo que mais gente chegava, Carol e
Rover despediram-se dele, levando uma pequena garrafa de leite.
Porém, ao preparar-se para montar a Hirondelle, a minha prima
sentiu-se muito cansada e rendeu-se.
– Queres guiar?
O inglês colocou um ar de contentamento insuportável quando
montou na bicicleta. Contudo, rapidamente percebeu a dificuldade
em conduzi-la apenas com a mão esquerda.
– Só posso usar o travão da frente! – resmungou.
Carol teve pena dele, mas a mão direita não voltaria, o melhor
era aprender a viver sem ela. Sentou-se na grelha com uma perna
para cada lado e deixou-se conduzir, tentando não bater com os
joelhos nos carros. «Cuidado!», gritou várias vezes, pois Rover fazia
verdadeiras razias aos automóveis.
– Que mau feitio... – brincou ele, indiferente aos berros dela.
De vez em quando, precisavam de abrandar, quando os veículos
estavam demasiado próximos uns dos outros ou tinham as portas
abertas. Devagar, pediam licença ou desmontavam, levando a
bicicleta pela mão até ultrapassarem mais um obstáculo.
A tarde passou enquanto atravessavam os arredores da cidade,
onde os prédios altos rareavam, as habitações empobreciam e
muita gente vinha mirar aquele mar de rodas que avançava
lentamente. Aqui e ali, Carol reparou em mulheres à beira da
estrada, a fumarem ou a acenarem. Alguns homens paravam,
parlamentavam e depois iam com elas para fora de vista.
– Ena! – exclamou de repente Rover.
Na berma do lado direito, uma mulher bonita e morena exibia
uma saia curta e um vestido decotado, que realçava uns seios
pequenos, mas empinados. Carol admirou-lhe as longas pernas, os
lábios pintados de um vermelho berrante e o exagerado pó-de-arroz
espalhado no rosto, mas só se irritou quando percebeu que aqueles
sorrisos lânguidos eram um convite ao inglês. Então, apertou o rabo
de Rover com as unhas, espetando-as até o magoar.
– Ei, assim arrancas-me a pele! – protestou ele.
Carol desculpou-se e mentiu: desequilibrara-se e tivera medo de
cair para trás. Divertida, acenou um adeus à mulher bonita, que lhe
sorriu de volta com desportivismo, percebendo que Rover não iria
parar. Porém, instantes depois, Carol escutou uma buzinadela e
virou o pescoço para trás. Um Oldsmobile castanho parara junto à
mulher bonita. Em instantes, esta entendeu-se com o condutor e
entrou no carro, contente, levando na mão a maleta que pousara no
chão. Safou-se, concluiu silenciosamente Carol.
Nessa noite, dormiram perto de Linas, debaixo de um camião e à
beira da estrada, com a Hirondelle fechada a cadeado. E na manhã
seguinte, mal se fizeram à estrada foram confrontados com mais um
engarrafamento, à chegada a Étampes.
– Estás a ver o mesmo que eu? – gritou Rover.
Entusiasmado, desmontou e correu, soltando uma piada ao
passar pelo Oldsmobile da véspera. Sem perceber o que o animara,
Carol levou a Hirondelle pela mão e, ao olhar para o interior do
automóvel, viu o condutor com as calças pelos joelhos, enquanto a
mulher bonita se debruçava sobre o baixo-ventre dele, executando
com a cabeça um movimento ritmado, para cima e para baixo.
O comentário brincalhão de Rover estava explicado, deduziu
Carol. Fizera aquilo a Jean-Luc, os homens gostavam muito. Aliás e
ao vê-la, o condutor do Oldsmobile, um gordo de barbas mal
aparadas, fez um gesto com a mão, convidando-a a juntar-se a eles.
Atrapalhada, a minha prima prosseguiu e olhou em frente,
percebendo finalmente o que excitara Rover: a descoberta de outra
bicicleta!
– Podemos ir cada um na sua, assim não te vais cansar tanto! –
gritou o piloto, feliz como um miúdo que recebe um novo brinquedo.
Era uma Peugeot, explicou. – E os pneus estão bons!
Carol riu-se, ao vê-lo dar as primeiras pedaladas. Rover era
cómico: alto e magro, segurando o guiador só com a mão esquerda,
careca e com um fato azul que não era dele. Contudo, incomodou-a
a liberdade que ganhara, era como se estivesse a fugir-lhe. Engoliu
em seco, temendo que também Rover fosse deixá-la, como Jean-
Luc, Polly e Sara.
15
Orleães, 15 de junho de 1940
A meio dessa tarde, Carol vibrou de contentamento quando,
duzentos metros à frente deles, viu os contornos da camioneta de
Madre Mary, onde se destacava o emblema do Saint-Sulpice.
– São as minhas freiras! – exclamou, pedalando com mais vigor.
O inglês ainda denotava dificuldades com a Peugeot, pois agora
que tinham cada um a sua bicicleta podiam andar mais depressa, o
que aumentava o desafio dele, impedido de usar o travão traseiro,
posicionado do lado direito do guiador.
– Não vás tão rápido! – pediu, a olhar para o céu.
Carol não lhe ligou, a fila continuava compacta e lenta, Rover
teria tempo de a apanhar junto da camioneta. Entusiasmada, nem
percebeu que o piloto parara preocupado, a examinar o horizonte. E
já não o ouviu a gritar, cem metros atrás dela, pois nesse momento
ecoaram aqueles sinistros sons.
Os Stukas, bombardeiros de voo picado, equipados com bombas
e três metralhadoras, possuíam uma sirene no nariz, que apitava
enquanto desciam sobre os alvos. A malícia nazi compreendera
que, mais do que a metralha, era aquele barulho aterrador que
lançava o pânico nos inimigos. Quando os aviões picavam em
direção ao solo, a sirene berrava e o medo explodia nos corações
dos que estavam em terra.
Foi isso que aconteceu. Muitos saíram dos carros e desataram a
correr para a berma, para se protegerem. Num primeiro momento, a
minha prima não percebeu porque o faziam, só entendeu quando
observou o céu. Dois Stukas desciam a um quilómetro dela, vindos
de Paris, e antes de a metralha começar a varrer a estrada, Carol
viu Rover a pedalar entre os veículos, a boca a mexer-se, o coto a
executar gestos aflitivos. Mas os gritos dele não se sobrepuseram
às buzinas ensurdecedoras.
As bombas e as balas das metralhadoras dos Stukas ceifaram
tudo o que encontraram à frente. De súbito, rebentaram carros e
camiões, carroças e pessoas. Gerou-se um furacão de fumo,
estampidos e explosões, enquanto partes de automóveis e de gente
saltavam no ar, como que impulsionadas por uma mola invisível.
Aterrada, Carol pegou na Hirondelle e desceu a pequena
ribanceira que ladeava a estrada. Quando agarrou no gato, tentou
perceber onde estava Rover, mas já não o viu. Em segundos, os
Stukas passaram por cima dela, rasando a estrada e disparando
furiosamente. A seu lado, um carro perdeu a capota e dois corpos
voaram, ao mesmo tempo que outro automóvel rebentava, lançando
estilhaços de vidros e metal. Aterrado, Chamberlain aninhou-se nos
braços dela, enquanto, cem metros à frente, algo terrível acontecia.
A minha prima descreveu-me aquele como «o pior momento da
sua vida», quando viu a camioneta do Saint-Sulpice saltar no ar,
como que levantada por um guindaste, os vidros laterais
despedaçados e uma bola de fogo a crescer lá dentro. Instantes
depois, um fumo negro envolveu a carroçaria, qual monstro voraz.
– Não! – gritou Carol, a tremer.
Pousou o gato no chão, abandonou a Hirondelle e subiu a
ribanceira aos pulos. A estrada transformara-se numa convulsão de
dor, tragédia e morte. Mas, vendo tudo, Carol não viu nada e deu
por si a correr sem sentir os pés a baterem no chão, a visão focada
numa sarça ardente, a camioneta do Saint-Sulpice.
Quando chegou perto dela, notou que resvalara para fora da
estrada e para a esquerda, descendo a pequena ribanceira. Do lado
do condutor, o veículo parecia menos danificado e a porta estava
aberta. Madre Mary tinha saído viva daquele braseiro, dentro do
qual Carol ouviu mil gritos. Algumas freiras encontravam-se
encurraladas, mas não as podia salvar, o incêndio apanhara-as e
eram já tochas humanas.
Parou a tremer e, quando olhou para o chão, viu a seus pés a
metade superior do corpo da irmã Bernardette, a rececionista,
separada das pernas pela metralha e bombas dos Stukas. Nesse
momento, quebrou. Sentiu a cabeça a andar à roda, uma opressão
violenta no peito e as pernas sem força. Ajoelhou-se na erva, tonta e
enjoada, mas não desmaiou, ficou apenas num limbo enevoado.
De súbito, alguém a agarrou. Carol abriu os olhos sem perceber
quem a ajudava, antes de desatar a vomitar, em espasmos bruscos.
Sentiu uma mão na testa, para que pudesse despejar o estômago
na erva. Reparou numa manga negra, mas só quando terminou de
esvaziar as entranhas é que recomeçou a ver. Quando levantou o
olhar, a paisagem à sua frente pareceu-lhe estranhamente bonita,
calma e verde.
– Carrô, tens de...
A voz soou-lhe conhecida, mas ouviram-se de novo as infernais
sirenes dos Stukas, que agora regressavam, fazendo o caminho
inverso, metralhando o que já tinham e o que não tinham
metralhado na primeira passagem. Mais carros, camiões e pessoas
explodiram, enquanto alguém a obrigava a deitar na erva. Carol
voltou a escutar tiros e gritos até os Stukas se afastarem e uma
calma aterradora nascer naquela sinistra estrada de Orleães.
Então, rodou a cabeça, e foi nesse momento que Rover chegou
junto dela e lhe virou de novo a cara para o horizonte em frente.
– Estás bem? – perguntou, atarantada.
Num primeiro momento, admitiu que o piloto avariara outra vez
da cabeça. Mas, ao examiná-lo melhor, reparou nas botas sujas
com terra, no fato e no casaco empoeirados. Não descobriu sangue
e o olhar dele não era o de um doido. Pelo contrário, os olhos
negros de Rover estavam carregados de uma compaixão imensa.
– Não quero que vejas isto – disse ele e abraçou-a.
Estava a protegê-la, não das balas alemãs, mas de um desgosto
terrível, tentando adiar o momento em que ela ia enegrecer, pois
alguém que muito amava tinha morrido para lhe salvar a vida.
– Madre Mary colocou-se à tua frente e salvou-te – murmurou-
lhe Rover ao ouvido, abraçando-a mais.
Uma dor terrível invadiu-a, enquanto recordava aquela voz
conhecida. «Carrô...» Fora Madre Mary quem a amparara e lhe
colocara a mão na testa! Estava viva, nesse momento.
– Ela morreu? – gemeu Carol, uma bomba de tristeza a explodir-
lhe no peito.
– Veio ajudar-te, mas depois os Stukas regressaram. Está aqui,
atrás de ti – disse-lhe o piloto.
A minha prima fez um esforço titânico para se recompor. Rover
não tinha a certeza de que estivesse preparada, mas ela impôs a
sua vontade, levantou-se e virou-se para trás. A dois metros de si,
um corpo envolto em trajes negros jazia inerte. Então, aproximou-se
e ajoelhou-se. Com a ajuda de Rover, viu os estragos causados
pelas balas. No peito de Madre Mary ainda havia sangue a brotar
das veias e das artérias, mas a cara dela estava pacífica e tinha os
olhos fechados. Um soluço tremendo nasceu em Carol, enquanto
fazia festas carinhosas no rosto da Madre que tanto amava, a sua
segunda mãe.
– Foi para junto de Cristo? – perguntou uma voz atrás deles. As
únicas duas freiras sobreviventes tinham-se aproximado. A que
falara acrescentou: – Ela queria parar em Étampes... Se a
tivéssemos deixado, ainda estaria viva.
Os quatro rezaram uma oração por Madre Mary e depois Rover
carregou-a para junto da camioneta, mas não havia forma de a
enterrarem, nem às outras freiras, nem a todos os mortos que
jaziam naquela infernal estrada.
– Vamos, os Stukas podem voltar – disse o piloto. – Os
franceses virão tratar disto.
Sem esperar pela decisão deles, as duas freiras do Saint-Sulpice
afastaram-se, à procura de alguém que as levasse a Orleães. Cem
metros à frente, entraram num carro.
– Não a posso deixar assim – disse Carol.
Então, Rover procurou destroços da camioneta e cobriu Madre
Mary, construindo-lhe um pequeno e improvisado mausoléu. Mas,
como a minha prima permanecia silenciosa, afastou-se e só dez
minutos depois regressou, com o gato e a Hirondelle.
– Vamos – repetiu.
Carol beijou pela última vez a testa de Madre Mary e afastou-se
sem olhar para trás. Ao chegar à estrada, reparou que Rover
fumava um charuto.
– Quem to deu? – perguntou.
O inglês encontrara um isqueiro Zippo e uma caixa de charutos
cubanos na camioneta, junto ao lugar do condutor.
– Eram dela – contou Carol, recordando que a Madre vivera na
ilha Martinica e tinha o hábito de fumar charutos e beber rum.
– Teria gostado de a conhecer – disse Rover.
– Ela também gostaria de ti – afirmou Carol.
Infinitamente tristes, os dois montaram nas respetivas bicicletas
e recomeçaram a pedalar, a caminho de Orleães.
16
Orleães, 16 de junho de 1940
A estrada até Orleães transformara-se num cemitério a céu
aberto, que lembrou a Carol as tenebrosas descrições do Inferno de
Dante. Centenas de cadáveres jaziam aos pedaços, no chão ou
dentro dos carros, dos camiões e das carroças. Viam-se corpos
desfigurados, tombados para a frente ou para trás, ao lado de quem
choravam esposas ou maridos, mães ou pais, filhos ou filhas.
Impotentes e indecisos, hesitavam entre enterrar os defuntos
queridos, deixá-los ou levá-los com eles, enquanto se ouviam os
gritos dos feridos ou moribundos, que se agarravam à vida com as
últimas forças.
Aqui e ali, um médico salvador ajoelhava-se e fazia um rápido
diagnóstico da situação. A solidariedade humana surgia e muitos
dos que haviam escapado, por sorte ou por se terem escondido,
ajudavam os feridos ou desimpediam a estrada.
A lotaria imprevisível dos disparos dos Stukas provocara
desencontros terríveis. Havia carros intocados com mortos no
interior; outros ardidos donde tinham escapado famílias inteiras; e
até um cavalo morto, deitado à frente de uma carroça incólume,
onde permanecia um casal de idosos agricultores.
Na primeira hora após a passagem dos aviões, o respeito pelos
mortos foi intenso e só os familiares lhes tocavam. Porém, à medida
que o Sol se punha, um estranho atrevimento apoderou-se das
gentes. Um homem retirou de um carro os corpos do condutor e da
esposa, sentando-se ao volante e ligando a ignição. Um outro
entrou num autocarro e defendeu, perante o espantado motorista,
que os mortos fossem retirados para que os vivos pudessem
prosseguir viagem. O interesse nos veículos e nos haveres dos
defuntos começou a impor as suas regras selvagens e Rover
lamentou-se por já não ter a pistola.
– Vão tentar roubar-nos as bicicletas? – assustou-se Carol.
– Não quero ficar aqui quando a noite chegar – disse ele.
Estavam perto de Orleães e já se viam as suas luzes, mas a
destruição causada pelos Stukas ao longo de alguns quilómetros
tornara ainda mais lenta a movimentação daquele oceano de rodas
e de gente. Além disso, previu Rover, a cidade devia estar caótica.
– Não necessariamente – ripostou Carol.
De lá partiam vias para oeste, a caminho de Le Mans, Rennes,
Tours e Nantes; para sudoeste, na direção de Poitiers, Limoges ou
Bordéus; e também para sul ou sudeste, no sentido de Clermont-
Ferrand, Saint-Étienne ou Lyon.
– O trânsito vai dividir-se. Para onde vais? – perguntou Rover.
Juntar-se a Madre Mary, em Clermont-Ferrand, já não era
possível.
– Não sei. A Sara vai ter com o pai a Bordéus – disse a minha
prima.
Rover sugeriu que rumassem também a essa cidade portuária,
onde podia encontrar um navio que o levasse até Inglaterra. De lá,
Carol podia ir para Espanha e depois para o seu país.
– Não quero ir para Portugal – ripostou a minha prima.
O inglês não questionou as razões da relutância dela, não por
falta de curiosidade, mas porque à frente deles viu o Oldsmobile
castanho. A mulher bonita estava encostada à mala do carro, a
fumar. Reconheceu-os e perguntou se a podiam ajudar.
Carol ficou imediatamente tensa, aquela oferecida olhava para
Rover com gula. E ainda mais irritada ficou quando este questionou
a francesa sobre o que se passara.
– O gordo das barbas morreu. Levou com um estilhaço –
explicou a mulher bonita. – Mas o carro está bom. Se me deres uma
mão, tiramos o homem e podem vir comigo. Vão melhor do que de
bicicleta.
– Não! – exclamou Carol. Percebendo que fora ríspida em
demasia, acrescentou: – Não deixo a minha Hirondelle.
A mulher bonita disse não entender como alguém preferia
pedalar a sentar-se confortavelmente nos bancos de couro de um
Oldsmobile. Olhou, sorridente, para Rover, claramente convidativa,
mas o inglês declarou estar com Carol.
– És francesa? – perguntou a mulher bonita. Como a minha
prima não a esclareceu, decidiu tomar a iniciativa. – Bem, o melhor
é apresentar-me, não quero mal-entendidos.
Aproximou-se e estendeu a mão para cumprimentar Carol.
Chamava-se Edite e era prostituta em Paris, mas não estava a
trabalhar, só queria a ajuda de Rover. Apesar de não saber guiar,
não ia deixar ali o carro.
Com alguma rispidez, Carol explicou que o piloto só tinha uma
mão, perdera a outra num desastre de aviação, a combater os
nazis. Rover franziu a testa, pois não gostou de que ela tivesse
decidido por ele.
– Posso tentar ajudar-te – disse à francesa.
A mulher bonita ficou orgulhosa da sua pequena vitória sobre a
minha prima e acrescentou mais uma provocação, quando lhe
perguntou se eles eram casados.
– Que estupidez! – ripostou Carol, contando que se haviam
conhecido apenas há dois dias, em Paris. Tinham fugido, juntos, dos
nazis, mas em breve iriam separar-se. Ele ia para Bordéus, tentar
apanhar um barco. – Quer voltar a Inglaterra – rematou com uma
ponta de desdém.
Rover ignorou-a e examinou o cadáver. O homem gordo estava
debruçado sobre o volante e tinha um bocado de metal enfiado na
garganta e muito sangue na camisa e no casaco.
– Teve azar, levava a janela aberta. Se a tivesse fechado, se
calhar ainda estava vivo – contou Edite, apontando para outro carro,
à frente deles uns metros, desfeito em bocados e calcinado pelo
fogo. Um pedaço da capota fora cuspido com tal força que acabara
na garganta daquele pobre homem.
– Precisam de ajuda? – perguntou uma nova voz, em francês.
Dois homens pararam junto ao Oldsmobile. Traziam os fatos
sujos de pó e de sangue que não era deles. O carro onde vinham
tinha sido danificado pelas balas alemãs, haviam-no deixado um
quilómetro atrás e agora iam para Orleães a pé.
– Se me ajudarem, dou-vos boleia – pediu Edite, outra vez a
sorrir.
Os franceses agitaram-se com a visão dos transbordantes seios
dela. Animados, retiraram o corpo do condutor do Oldsmobile,
transportando-o com dificuldade até à berma da estrada.
– Pelo menos morreu feliz... – murmurou Edite, sorrindo a Rover.
Ao regressarem, um dos homens perguntou à mulher bonita se
podia guiar o carro. Quando esta agradeceu, o outro francês quis
saber se aquele era o marido dela.
– Sim – mentiu a francesa.
– Quer rezar uma oração por ele? – questionou o homem.
Edite olhou para Rover e para Carol e revirou os olhos, mas
depois avançou até à berma e fez um sinal-da-cruz rápido,
observando o homem gordo uns segundos, como se estivesse a
recordá-lo em silêncio.
– Que traste – murmurou a minha prima.
– Instinto de sobrevivência – contrapôs Rover, aproveitando para
acender um dos charutos de Madre Mary, com o isqueiro Zippo.
– Ei, dás-me um? – pediu Edite, quando voltou a passar por eles
e antes de entrar no Oldsmobile.
Carol cerrou os dentes, Rover não ia oferecer àquela prostituta
um charuto de Madre Mary! O seu ar era tão zangado que qualquer
outra intenção que ele tivesse morreu num segundo.
Então, Edite olhou-a intensamente.
– Abre mais as pernas e alivia essa tensão toda, faz-te mal ao
estômago, rapariga! – rindo-se para os franceses, que se haviam
sentado à frente, entrou no carro pela porta de trás. – Vou com
chauffer e tudo, que chique!
O Oldsmobile arrancou e ficaram a vê-lo afastar-se.
– Vamos – comandou Rover, montando na bicicleta com o rosto
fechado. O cansaço dele era visível.
– Fiz mal em recusar a boleia? – perguntou Carol, quando os
dois já pedalavam a caminho de Orleães.
Rover respirou fundo e disse que podiam ter metido as bicicletas
na mala do carro, que era grande. Assim, iam demorar a chegar à
cidade e nem sabiam ainda onde comer ou dormir.
– Não gostei dela – afirmou Carol.
O inglês encolheu os ombros.
– Não vejo razão para tantos ciúmes. A Edite é uma prostituta,
não ia fugir com ela.
– Ciúmes? – indignou-se a minha prima. – Que tolice, não tenho
ciúmes daquela ordinária!
– Claro que não – rematou Rover, continuando a pedalar.
17
Chenonceau, 18 de junho de 1940
Na manhã de 17 de junho, à saída de Orleães, viram o Citroën
azul a entrar na estrada de Tours.
– São eles! – gritou Carol, que ainda tentou forçar a Hirondelle.
– Pode ser que os encontremos mais à frente – confortou-a
Rover.
Seguiram atrás do carro dos amigos, mas durante o dia os
Stukas reapareceram. Então, e para evitar novos encontros com os
aviões, na noite de 17, que passaram em Blois, decidiram desviar-
se da estrada principal. Na manhã seguinte, compraram
mantimentos e água, mas só fizeram a primeira pausa a meio do
dia, encantados com a bela paisagem que rodeava o castelo de
Chenonceau, pouco depois de Montrichard.
Quando desmontou da Hirondelle, a minha prima voltou a chorar.
Doía-lhe muito o desaparecimento da sua protetora em Paris. Madre
Mary cuidara dela como de uma filha e ocupara o lugar que a mãe
deixara vago. Sentia saudades da ternura da religiosa, de ouvi-la
chamar-lhe Carrô. Mas chorar, que é o tributo prestado pela
saudade ao afeto, não lhe mudava o destino. Por isso, decidira
acompanhar o inglês até Bordéus, mas só lho disse quando se
sentou no chão para comer.
– Porquê? – perguntou Rover, enquanto trincava uma baguete.
A minha prima anotou mentalmente que teria de ensiná-lo a não
falar com a boca cheia, enquanto lhe dizia que não ia para um
convento onde ninguém a conhecia, preferia juntar-se a Sara.
– Os teus amigos já devem ter passado Tours.
Rover examinava um pequeno mapa, que comprara numa
tabacaria, em Blois, deduzindo o caminho previsível para o Citroën:
Poitiers, Angoulême e por fim Bordéus.
– Quantos dias demoramos até lá? – perguntou Carol.
– Hoje dormimos em Tours, amanhã em Poitiers, depois em
Angoulême e ao terceiro dia em Bordéus. Chegamos a 21 de junho
– disse ele.
O Citroën andaria mais depressa, pois agora havia menos
trânsito nas estradas, mas Marcel teria de esperar e era bom que os
filhos se despachassem. Os alemães dirigiam-se rapidamente para
sul.
Em Blois, tinham escutado as notícias da BBC, no rádio da
pensão. O Governo francês já admitira a derrota e as tropas
gaulesas haviam-se rendido, mas nem isso parara o avanço dos
nazis, decididos a ocupar a França de Calais até aos Pirenéus.
– Espero que o coronel Shlez... qualquer coisa, tenha desistido
de procurar o Marcel. Se calhar nem se fez à estrada, devia saber
que a iam bombardear – especulou a minha prima.
Rover duvidou, a Gestapo não largava as presas facilmente. Mas
evitou preocupá-la e mudou de assunto.
– Este fiambre é ótimo.
Nostálgica, Carol recordou os seus pequenos-almoços
parisienses, as boulangeries onde se comiam excelentes croissants
e todo o tipo de saborosos pães.
– Engordei vários quilos em dois anos.
– Mas não és gorda – apreciou Rover.
Ela corou. Incomodada com aquele poder dele, decidiu diminuí-
lo e afirmou que o seu namorado, chamado Jean-Luc, também
gostava de baguetes, comia sempre uma ao pequeno-almoço. Mal
acabou de o dizer arrependeu-se, pois a frase era enganadora,
como se ainda admirasse Jean-Luc.
O inglês não se incomodou. Procurou a cidade de Lyon no mapa
e sorriu.
– O teu namorado está longe.
Nem ele sabia quão verdadeira era a frase, pensou Carol, antes
de o ouvir perguntar: – Estudas literatura?
Ela recordou o trabalho que não chegara a entregar, sobre
Ulisses e a Odisseia, uma viagem cheia de peripécias.
– Como a nossa? – questionou Rover.
– A nossa só tem uns dias, espero que não dure anos – disse
Carol.
O piloto bebeu um pouco de água, depois mordeu novamente a
baguete e tentou ripostar com a boca cheia, o que a levou a
interrompê-lo, dizendo-lhe que primeiro devia terminar de mastigar,
engolir a comida e só depois falar.
– Ai é? – provocou o inglês, mastigando o fiambre e o pão de
boca aberta. – Aprendeste isso nos livros?
Ela suspirou, aborrecida, talvez ele se tivesse esquecido da
forma de viver fora da caserna. Como Rover se riu e abanou a
cabeça, dizendo-lhe que não era assim, Carol corou outra vez e
lembrou-se do que Polly um dia lhe dissera: «Os homens tinham
saído diretos das cavernas, só uma intensa domesticação os fazia
perder a selvajaria intrínseca.» Por exemplo, depois de descalçar as
botas, Rover esquecia-se de retirar as meias e de lavar os pés.
– Que outros livros leste? – perguntou o piloto.
Agradada com a curiosidade, a minha prima desfiou uma longa
lista: Chaucer, Shakespeare, Dante, Goethe, Victor Hugo, Flaubert,
Fitzgerald, Eça de Queirós e, claro, Proust, um dos seus preferidos.
Aliás, aquela paisagem bucólica e o piquenique lembravam a obra
dele, Em Busca do Tempo Perdido.
Porém, Rover franziu a testa, não apreciava romances.
– São como as cebolas, mal os abrem as meninas começam a
chorar.
A minha prima considerou-o um bárbaro e um tolo. Os romances
eram sobre a condição humana, o amor, a guerra, a esperança, o
sonho.
– Nunca leste um?
– Desses não – respondeu Rover, mas logo se corrigiu. –
Mentira. Li um. Ou melhor, comecei um, antes desta última missão.
– Qual? – perguntou ela.
O inglês suspirou: – Quo Vadis. É passado na época do
imperador Nero, o que mandou pegar fogo a Roma.
– Henryk Sienkiewicz – disparou ela. – Polaco.
Rover olhou-a, impressionado, enquanto ela lembrava o título
completo: Quo Vadis: Uma Narrativa do Tempo de Nero. A história
da cristã Lígia, que se apaixona pelo patrício romano Marcus
Vinicius, valera ao escritor o Prémio Nobel da Literatura, em 1905,
disse a minha prima, antes de descrever a cena mais célebre do
romance. São Pedro foge de Roma com medo dos romanos e
cruza-se na estrada com Jesus, que se dirige para lá. Então,
pergunta ao filho de Deus onde vai, com a célebre frase: Quo Vadis,
Domine?, e Jesus responde que, se o seu apóstolo desertou do
povo cristão, irá a Roma para ser crucificado pela segunda vez.
Envergonhado, São Pedro regressa à cidade e aceita o martírio.
Depois de um breve silêncio, um extasiado Rover apenas pediu:
– Não me contes como acaba, quero ler até ao fim.
Nesse momento, ouviram um carro a aproximar-se. Era o
Oldsmobile de que Edite se apoderara após a morte do proprietário
e onde vinha com um novo condutor.
– Ora viva, pombinhos! O chateau é vosso? – brincou a
francesa.
Rover examinou o homem: rondava os seus cinquenta anos,
calvo e de olhos negros. Estava bem barbeado e bem vestido, de
fato cinzento-escuro e gravata. As rugas no rosto e as olheiras
indicavam, porém, uma intensa agitação interior, contraditória com a
pose confiante e a calma forçada do olhar.
– Rover – apresentou-se ao outro, que saiu do carro, tal como
Edite.
– Otto – respondeu o condutor. – Sou alemão, mas dos bons.
A francesa contou que se haviam encontrado em Orleães e que
Otto guiava bem. Tal como Carol e Rover, tinham-se desviado da
estrada principal, em Blois, mas só decidiram parar ali para fazer
umas necessidades e Edite pediu à minha prima que fosse atrás de
umas árvores com ela. Rover fez um aceno aprovador e Carol
seguiu-a, pois também precisava de alívio.
As duas caminharam cerca de cinquenta metros, até verem uns
carvalhos grandes, atrás dos quais Edite levantou as saias e baixou
as cuecas, informando que tinha de fazer «sólido e líquido».
Atrapalhada com tanto à-vontade, a minha prima foi até ao carvalho
seguinte e despachou-se como pôde, mas no final não sabia como
se limpar e só acalmou quando Edite surgiu, com várias páginas de
jornal na mão.
No regresso ao carro, a francesa confessou que Otto era mais
atinado do que os homens que levara até Orleães: haviam-lhe pago,
mas também exigido muito.
– Sanduíche grega, sabes como é? – perguntou Edite. Como
Carol não conhecia a posição, descreveu-a. – Estás de gatas e um
mete-a por trás, enquanto o outro a mete na tua boca.
Já satisfeitos, os franceses não se incomodaram por ela os
trocar por Otto, que Edite disse ter muito dinheiro. Até estava a
pensar em casar com ele, não fosse a falta de vigor que
apresentava à noite.
– Está nervoso e não lhe cresce a pila.
Carol ficou surpreendida, Otto parecera-lhe perigoso, mas talvez
fosse apenas devido à nacionalidade. Pelos vistos, debaixo da pose
postiça morava uma alma perturbada.
– Não querem vir connosco? – convidou o alemão, quando se
reuniram de novo junto ao Oldsmobile.
Antes que alguém pudesse responder, Edite fez uma festa no
braço de Rover, admirando-lhe a paciência.
– A tonta prefere ir montada num selim – murmurou, ajeitando o
decote.
O alemão deixou-a entrar no Oldsmobile e depois comentou com
o piloto, em voz baixa: – Puta um dia, puta a vida toda...
Quando o carro se afastou, o piloto perguntou: – Já gostas mais
dela?
A minha prima não respondeu, mas sorriu.
18
Poitiers, 19 de junho de 1940
Quando a Hirondelle e a Peugeot já se aproximavam de Poitiers,
por volta das quatro da tarde daquele dia, os Stukas fizeram mais
uma tenebrosa aparição. O ouvido atento de Rover deveria ter sido
o primeiro a topá-los, mas desta vez o mérito pertenceu a
Chamberlain. O ronco dos aviões havia deixado marca no felino,
que levantou a cabeça dentro do cesto da Hirondelle.
Um segundo depois, Rover viu dois pontos minúsculos no
horizonte. Apontou para o céu e tentou avisar algumas pessoas,
mas a maioria não o entendeu.
– Para a berma, escondemo-nos atrás das árvores! – berrou.
Como muitas estradas da região, aquela tinha cerca de vinte
metros a separar o asfalto do bosque e, por isso, os dois correram,
o piloto levando o gato. Não havia tanta gente, nem tantos
automóveis como na estrada de Orleães, mas mesmo assim o rasto
de destruição deixado pelos aviões nazis foi considerável. Após as
habituais duas passagens, uma em cada direção, muitos carros
ficaram destruídos e repetiu-se o horror. Mortos, feridos, famílias em
choro, uma barbárie agonizante.
Rover e Carol ajudaram quem podiam, mas não havia forma de
evitar tanto mal e perda, apenas de minorar a desgraça, o que
fizeram até o Sol se pôr e aparecerem duas ambulâncias da Cruz
Vermelha, vindas de Poitiers.
– Vamos.
Cansado, Rover queria procurar uma pensão onde pudessem
repousar. Montaram nas bicicletas e, uns quilómetros à frente,
chegaram aos arredores da célebre cidade onde, nos finais de
outubro do distante ano de 732 depois de Cristo, os exércitos
carolíngios do reino franco, liderados por Carlos Martel, haviam
vencido as tropas mouras vindas do Califado de Córdova, travando
para sempre o avanço muçulmano na Europa medieval.
– Olha quem são eles... – disse Rover, interrompendo a
dissertação histórica da minha prima.
O Oldsmobile castanho encontrava-se parado na berma e uma
irritada Edite fumava um cigarro, encostada à porta.
– Foram atingidos? – perguntou o inglês.
A cara trombuda da francesa desvaneceu-se, as pestanas
bateram com rapidez e o corpete desceu, puxado pela mão direita
dela.
– Rover! – exclamou, esborrachando as mamas contra o tronco
dele, só para enervar a minha prima.
– O Otto? – interrogou o piloto, claramente constrangido.
– Oh!, mon amour, foi buscar aquilo que deu a vitória aos
alemães! – explicou a foliona francesa. – Sem gasolina, os panzers
não teriam penetrado tão fundo nas Ardenas! E sem gasolina o
Ottozinho também não se safa!
Esta excitação terminou num segundo, mal a minha prima se
aproximou do alemão. Insegura, temendo perder o seu privilégio nos
bancos do Oldsmobile, Edite ultrapassou Carol em passo corrido,
gritando ao condutor.
– Ottozinho, cucu!
Uns metros à frente, este debruçava-se sobre a traseira de um
Packard e tentava chupar gasolina do depósito, usando um pedaço
de uma mangueira.
– Ottozinho, queres que chupe? – perguntou Edite.
Irritado, o alemão alegou que a gasolina do Oldsmobile não dava
para chegarem a Poitiers.
– Queres ir a pé?
– Nem morta! – garantiu Edite. – Chupo o que for preciso.
– Então chupa! – ordenou o zangado Otto.
A careta enojada da francesa enfureceu o alemão, que, num
gesto brusco, a puxou pelos cabelos, colocando-lhe o tubo na boca
à força e berrando: – Todas as putas sabem chupar!
Incomodado, Rover disse a Otto que não era preciso magoar a
rapariga, ele retirava a gasolina do depósito. Como que por magia, o
alemão acalmou e forçou um sorriso a Edite.
– Obrigado.
A francesa deu dois passos atrás e murmurou entredentes, já
junto de Carol: – Gosto de levar porrada deles... Tu não?
A minha prima ignorou-a, pois quando Rover colocou a boca em
«O» à volta da ponta da mangueira, recordou o momento em que o
vira envolver o cano da pistola, no hospital. Como parecia um
homem novo e diferente, distante do anémico suicida de Paris.
A gasolina do Packard finalmente subiu pelo tubo e o inglês
cuspiu, enquanto despejava o líquido para um jerrycan, que Otto
pousara no chão. Tiraram alguns litros, mas não o suficiente para
encher o recipiente.
– Não dá para chegar a Bordéus! – queixou-se Otto. – Os
panzers já passaram Tours.
Rover foi buscar uma garrafa de água à sua bicicleta e
bochechou, para tirar o sabor a gasolina da boca, enquanto Otto ia
despejar o jerrycan no depósito do Oldsmobile.
– Nós vamos ficar em Poitiers esta noite – informou o piloto,
observando a operação do alemão. – E vocês?
Edite tentou-o, gulosa.
– Podíamos ficar todos num quarto.
O inglês rejeitou o convite.
– Temos de descansar, pedalar puxa muito pelo corpo.
A francesa mirou a minha prima e murmurou: – Ah!, pois puxa...
Nesse instante, proveniente do Packard, ouviram um som
inesperado, uma canção que alguém trauteava, numa voz fininha.
Curiosos, investigaram o automóvel e repararam num casal, nos
bancos da frente. O condutor tombara para a esquerda e envolvia
uma mulher com o braço direito, estando esta caída sobre ele.
Tinham morrido abraçados.
Edite benzeu-se, aflita.
– Meu Deus...
Rover espreitou para a traseira do carro.
– Olá!
– Sur le pont, D´Avignon, on y dance, on y dance.
A cantiga continuava, numa voz de criança, límpida e doce,
proveniente de uma menina, enfiada entre o banco de trás e os da
frente. Devia ter seis ou sete anos e era muito bonita, de cabelos
louros e olhos azuis. Mirava-os também de volta, sem deixar de
repetir o refrão.
– Como te chamas? – perguntou Carol, em francês. Como a
menina não lhe respondeu, deduziu que ela não falava essa língua,
apenas sabia cantar aquela música.
– São apátridas – afirmou Rover, que retirara uns papéis do
bolso do condutor. O casal era sudeta, de uma região da
Checoslováquia invadida pela Alemanha, mas aquela desaparecera
enquanto país independente.
– Não a podemos deixar aqui sozinha – afirmou Carol.
Então, Edite chamou pela criança.
– Vem!
A menina agarrou a mão que a francesa lhe estendera e saiu do
carro em silêncio. Edite fez-lhe uma ou duas perguntas, mas não
obteve resposta.
– Temos de ir! – gritou Otto, já sentado ao volante do
Oldsmobile.
– Vamos levá-la – ripostou a francesa, que, perante aquela
aparição, revelara o lado maternal. – Tem a idade da minha filha.
Otto protestou: – Queres levar uma criança com quem nem
sequer conseguimos falar?
Provavelmente sem pensar, perguntou à menina, em alemão, se
aqueles eram os pais dela. Para surpresa geral, a criança
respondeu nessa língua, era filha do casal e chamava-se Monika.
Edite sorriu-lhe e disse em francês: – Vens connosco! – depois
acrescentou num tom enigmático: – Ottozinho, uma criança dá
sempre jeito!
A menina sentou-se no banco de trás do Oldsmobile e Edite, que
durante uns minutos até parecera uma mulher séria, regressou aos
seus modos anteriores e atirou um beijo lascivo a Rover.
– Que pena não virem connosco, os quatro no mesmo quarto,
que paródia! – enquanto se sentava, provocou Carol: – Mais uma
noite só para ti, aproveita, miúda!
A seu lado, Otto resmungou uma ordem e, após um segundo de
alarme, Edite colocou um ar falsamente submisso, enquanto o
alemão acelerava o Oldsmobile.
– Esta safa-se sempre... – comentou Carol.
– A criança vai ser um problema – disse Rover.
A menina não tinha passaporte. Para obter um quarto de hotel, a
presença dela podia ajudar, mas passar a fronteira com Monika
seria impossível.
– Ainda estamos longe disso – recordou a minha prima.
Na noite anterior, ao saber do avanço nazi para o Sul de França,
o inglês tinha pela primeira vez admitido a hipótese de não
conseguir embarcar a tempo em Bordéus, o que deixava como
única opção a ida para Espanha e depois para Portugal. Enervada,
Carol rejeitara a ideia e colocara múltiplas objeções, sendo a
principal o facto de Rover não ter passaporte. Os pilotos ingleses
levavam sempre esse documento durante as missões, para o caso
de serem abatidos e de terem de regressar por outro país. Contudo,
em Paris, Rover entregara o passaporte à chegada ao hospital e
não lho devolveram.
– Posso sempre passar por pai da Monika... – brincou ele. – Um
apátrida como ela.
– Tenho a certeza de que chegamos a tempo de apanhares um
barco em Bordéus – afirmou Carol, embora já desejasse o contrário.
19
Bordéus, 21 de junho de 1940
– És mesmo bom em previsões – constatou Carol, quando
entraram em Bordéus, ao final da tarde do dia 21, tal como Rover
dissera.
As estradas tinham agora menos trânsito, era mais fácil
encontrar locais onde comer ou dormir e os corpos de ambos já se
haviam habituado ao exercício diário intenso. O inglês sugerira até
que se inscrevessem na Volta à França, uma famosa prova de
ciclismo, onde garantidamente iriam ficar bem classificados.
– Não há mulheres no Tour – protestou a minha prima, antes de
perguntar se não lhe custava deixá-la sozinha em Bordéus.
– Vais encontrar os teus amigos – lembrou Rover.
– Não sei se estão cá – disse ela, desapontada.
Estavam juntos há nove dias e a ideia de que ele a ia abandonar
causava-lhe um mal-estar crescente. Com Sara ficaria
acompanhada, mas agora que se habituara a Rover não queria
deixá-lo. Para mais, sem mão direita, ele não podia pilotar aviões. O
que iria fazer em Inglaterra, atender telefones?
– Não fales do que não sabes – respondeu Rover. – Mas tenho
receio de te deixar. Estás sempre a meter-te em trapalhadas.
– Talvez devesse ter ficado em Paris – amuou a minha prima.
O inglês, que pedalava a Peugeot sempre atrás da Hirondelle,
para a proteger, colocou-se ao lado dela.
– Não digas isso.
– O Chamberlain vai contigo? – perguntou Carol.
Ao ouvir o seu nome, o gato cego virou-se para ela, que mais
uma vez se impressionou com aqueles olhos baços e
esbranquiçados.
– Fica contigo. Já está habituado à caminha que lhe fazes –
brincou Rover. – E às tuas demoras...
Todas as manhãs, o piloto impacientava-se com o tempo que
Carol levava a arrumar o saco e o nécessaire. «Tão pouca coisa e
estou sempre à tua espera», protestara, espantado nos primeiros
dias, mas já arreliado a partir do quinto. «Pelo menos lavo a roupa,
seco-a e arrumo-a! Tu nem tiras as meias para dormir!», ripostara a
minha prima.
O vestuário do inglês revelara-se um mistério diário. No início, só
dispunha do fato azul e da camisa, roubados ao morto no hospital,
além das botas e de um par de meias. Porém, a partir do terceiro dia
e sem ela perceber como, aparecia com peças diferentes. Umas
calças castanhas, uma camisa branca, vários pares de meias, umas
cuecas. Sapatos novos é que nunca arranjava, manteve sempre as
suas botas.
«Roubaste essas meias a quem?», perguntara ela certo dia, mas
nunca obtivera resposta.
Quando Rover a via lavar a roupa, nas pensões onde dormiam,
pedia-lhe se podia também lavar a dele, o que Carol fazia com um
protesto, alegando que não eram marido e mulher.
«Mas eu não consigo!», justificava-se Rover, levantando ao alto
um argumento inatacável: o coto da mão direita.
«E consegues pendurá-las?», questionava ela, depois de lhe
esfregar as camisas com sabão.
Até para isso Rover revelara uma gritante falta de jeito, ao
colocar as roupas no parapeito da janela, deixara cair umas calças e
uma camisa, exasperando Carol, que o mandara descer às traseiras
da pensão a fim de recuperar as peças. «Vai lá fumar um charuto e
saber novidades. Mas volta para me contar.»
Nessa noite, em Angoulême, as notícias eram cada vez piores,
por isso estavam nervosos quando chegaram a Bordéus. A França
rendera-se e o armistício ia ser assinado no dia seguinte, em
Versalhes, a BBC já o anunciara.
– Temos de procurar o L’Oiseau Blanc – lembrou Carol.
Era o local de encontro estabelecido por Marcel, só que ninguém
lhes soube dizer onde ficava. Desanimados, dirigiram-se ao Café
Tortoni, na praça principal da cidade, notando as ruas centrais
repletas. Milhares de fugitivos vindos do Norte haviam desaguado
ali, donde só sairiam para Espanha, pois o porto de Bordéus fora
encerrado pelas autoridades francesas, depois das ameaças de
bombardeamento da Luftwaffe, a força aérea nazi, cujos aviões se
ouviam nos céus.
– Agora temos mesmo de continuar juntos – riu-se o inglês.
Ouviram falar em várias línguas e Carol identificou holandeses,
belgas, polacos, alemães, húngaros, búlgaros e russos, além de
franceses e espanhóis. Muitos eram judeus, mas a maioria apenas
fugia com receio das tropas de Hitler. Perguntando aqui e ali,
ficaram a saber que para passar a fronteira, em Bayonne, era
necessário, além do passaporte, um visto de trânsito por Espanha,
que se obtinha no Consulado espanhol, e outro de entrada em
Portugal. Contudo, este só seria concedido pelo cônsul lusitano
perante a exibição de um bilhete de partida de Portugal, fosse de
barco ou de avião, uma prova clara de que a pessoa não iria
permanecer no país muitos dias.
– Impossível! – exasperou-se Rover. Não tinha passaporte, muito
menos bilhetes para deixar Lisboa. – Nem chego a Espanha.
– Temos de arranjar-te um bilhete, dois vistos e um passaporte –
afirmou Carol com voluntarismo. – Dinheiro, tenho eu!
Enquanto contava as notas, um homem de chapéu avançou para
ela, abrindo-lhe os braços.
– Caroline! Que bom vê-la!
O professor Max Katzenberg, apesar de apresentar as barbas
mais longas e o fato mais coçado, parecia rejuvenescido. Por um
segundo, a minha prima questionou-se se teria encontrado uma
noiva em Bordéus, tal a sua felicidade. Mas era outro o motivo da
alegria de Katzenberg: recebera o visto de entrada em Portugal,
passado pelo cônsul Aristides de Sousa Mendes.
Nos últimos dias, como o fluxo de pedidos de vistos aumentara,
e a urgência em recebê-los atingira o auge devido à proximidade
dos alemães, eram entregues mais depressa, sobretudo aos judeus.
Dada esta explicação, o professor observou Rover de sobrolho
franzido. – É o seu noivo?
A minha prima contou-lhe a história do inglês e, mais
descansado, pois não perdera a esperança de casar com ela,
Katzenberg prometeu falar com o rabi Shamon, o responsável pelos
pedidos dos judeus.
– Talvez lhe consiga um passaporte – disse a Rover. – Falso,
claro.
Uma hora depois deste encontro, e como Katzenberg não
voltava, decidiram ir jantar ao Café Tortoni. Na esplanada, viam-se
dezenas de homens a beber e a fumar, enquanto as mulheres e
crianças se tinham instalado lá dentro. O inglês ainda procurou uma
mesa, mas só havia lugar ao balcão. No momento em que se
estavam a sentar, Carol ouviu alguém chamá-la.
– Sara! – exclamou, contente.
A filha de Marcel aproximou-se e, depois de abraçar a minha
prima, acusou Mademoiselle Laffitte de a ter impedido de ir ao
convento.
– É uma tirana ao volante do Citroën! Até o François tem medo
dela!
Ao apresentar-lhe Rover, a minha prima sentiu ciúmes. Sara
estava linda, num vestido azul-escuro com um ligeiro decote. No
Tortoni, mesmo as mulheres viravam a cabeça para a ver passar,
enquanto ela os conduzia até à mesa e Rover comentava, em voz
baixa: – É muito bonita, a tua amiga.
Mal os viu surgir, Mademoiselle Laffitte colocou as mãos ao alto,
como se agradecesse a Deus aquela dádiva celeste, pois ainda se
sentia culpada por a ter deixado.
– Caroline, as freiras avisaram-te? Uma delas ouviu-me, tenho a
certeza!
A minha prima sentiu-se subitamente triste, pois quem vira o
Citroën fora a irmã Bernardette, cuja horrível morte recordou.
– Oh, mon Dieu, c´est térrible! – afligiu-se a governanta, ao
escutar o relato trágico dos acontecimentos na estrada de Orleães.
Até colocou o chapéu na cabeça, como se quisesse proteger-se de
alguma desgraça.
– Desde que saímos de Paris que não o tira – comentou
François, contando que dias antes, imediatamente após a condutora
pousar o chapéu no cocuruto, o Citroën escapara à metralha e às
bombas dos Stukas. – Pararam de disparar cem metros à nossa
frente e recomeçaram no mesmo sítio. Mademoiselle Laffitte garante
que foi o chapéu dela que nos salvou! – declarou François,
volteando o indicador direito junto à testa, como se considerasse a
governanta uma tola.
– Mais c´est vrai! – cantarolou esta. – Mon chapeau nous a
sauvé!
– Perdeste a mão? – perguntou François, observando o coto que
o inglês pousara em cima da mesa, enquanto com a mão boa
acarinhava Chamberlain.
– São estranhamente belos, os olhos desse gato – apreciou
Sara, mas o irmão mandou-a calar, entusiasmado com a descrição
da batalha aérea que abatera o Spitfire.
– Doeu muito? – perguntou ela no final da narrativa, com um
sorriso doce.
Rover suspirou, erguendo as sobrancelhas.
– Não posso voltar a pilotar um avião – reconheceu em voz
pesarosa.
– Onde estão a dormir? – intrometeu-se Carol, para colocar um
ponto final no nascente encantamento de Sara pelo inglês.
A amiga contou que se mantinham hospedados no L’Oiseau
Blanc, à espera do pai.
– Querem ficar connosco? Dormes no meu quarto! A cama é
grande e Mademoiselle Laffitte repousa no sofá. O Rover fica com o
François!
Como se fossem amigos de longa data, este último torceu o
nariz: Rover não cabia num sofá, Mademoiselle Laffitte era mais
baixa e dormia com os pés de fora.
– De chinelos, roupão escarlate e rede no cabelo, para não se
despentear! – gozou.
Divertido com a lata dele, Rover riu-se e Carol sentiu o coração
alegrar-se: os amigos estavam bem, era o mais importante. Por
momentos, certa de que Marcel ia aparecer, esqueceu os horrores
da guerra, uma ilusão de felicidade que durou apenas umas horas...
20
Bordéus, 22 de junho de 1940
O dia em que o Governo francês assinou o armistício, aceitando
a divisão do território na denominada França Livre e na França
Ocupada, sob domínio alemão, acabou registado na memória de
Carol como um dos mais confusos da viagem.
– Jack – disse-me em Lisboa –, aconteceu de tudo!
O frenesim começou com confidências matinais, no L’Oiseau
Blanc. A minha prima dormiu com Sara e, ao acordar, descreveu-lhe
os acontecimentos desde Paris, tendo sido repreendida pela amiga
por não lhe ter dito, mal se reencontraram, que namorava com
Rover, pois, se o tivesse feito, ela não olharia o inglês da mesma
maneira.
– Gostaste dele? – inquietou-se Carol.
Apanhada em contrapé, Sara reconheceu que Rover lhe
agradara. Era seguro de si, inteligente e bem-educado. Obviamente,
a minha prima não referiu que o encontrara com uma pistola enfiada
na boca, nem que não lavava os pés antes de dormir. Eram coisas
íntimas, só deles.
– E no amor? – perguntou Sara.
Carol sorriu.
– Foi intenso.
– Intenso como?
A minha prima descodificou a palavra.
– Duradouro. Prolongado.
– Melhor do que o Jean-Luc? – questionou a amiga.
– Sim – confirmou Carol sem excitação, embora tenha pensado,
mil vezes melhor, esse não sabia nada, este levou-me ao céu.
– Sim!? Só sim? – indignou-se a filha de Marcel.
– Rover é especial – rematou a minha prima e mais não disse,
seguindo o conselho da mãe, nunca elogiar de mais os namorados,
pois as amigas logo os cobiçavam, a sua progenitora fora vítima
disso várias vezes.
Com a conversa ligeiramente bloqueada, levantaram-se,
tomaram banho e desceram à sala dos pequenos-almoços, onde
Mademoiselle Laffitte já comia e François as informou de que Rover
permanecia no quarto, pois há muito tempo que não tomava um
banho «como deve ser.»
Enquanto trincavam as inevitáveis baguetes com manteiga e
fiambre, acompanhadas de ovos mexidos e leite com chocolate,
uma criada da pensão aproximou-se e entregou a Sara um pequeno
envelope branco. Ao vê-lo, Carol teve a certeza de que provinha do
pai dela, era igual ao que recebera no convento!
Na missiva, Marcel informava os filhos de que o rabi Shimon
estaria, às doze horas, junto ao Café Tortoni, para lhes entregar os
vistos de entrada em Espanha e Portugal, bem como os bilhetes de
um barco que partiria de Lisboa rumo a Nova Iorque. Na posse dos
documentos, teriam de seguir para Bayonne e passar a fronteira,
entrando em Espanha, onde se deviam dirigir à cidade de San
Sebastián e à Pensão Real, até ele aparecer. Num curto P.S. final,
Marcel pedia a Mademoiselle Laffitte que continuasse a guiar o
Citroën.
Sara ficou fortemente desapontada.
– Não fala na minha mãe?
– És burra? – provocou o irmão.
A minha prima explicou o óbvio: Marcel não os queria pôr em
perigo, era melhor passarem a fronteira sem ele.
– Aleluia! – congratulou-se François, dando mais uma vez a
entender que Carol era mais esperta do que a irmã.
Sara olhou-o, furiosa.
– Em Paris, percebi o receio dele, mas que lhe custava vir a esta
pensão? Vês algum nazi aqui?
A celeuma agravou-se quando Mademoiselle Laffitte, numa curta
declaração, avisou que não mais guiaria o Citroën, uma faísca final
que fez Sara levantar-se da mesa. Furiosa, sem pachorra para o
irmão e para a governanta, subiu as escadas.
Quando terminou de comer, a minha prima foi confortá-la.
Contudo, ao abrir a porta do quarto, percebeu que a amiga não
estava lá e voltou ao corredor, agitada. Decidida, entrou no quarto
onde o piloto dormira, mas também não viu ninguém.
– François, és tu?
A voz inconfundível do inglês, vinda da casa de banho, soou-lhe
preocupada e Carol avançou sem hesitar. Rover encontrava-se
dentro da banheira, coberto de água e tapando o baixo-ventre com a
mão e o coto. Encostada à parede, Sara chorava convulsivamente.
– Não aguento mais o François, a Mademoiselle e os mistérios
do meu pai! – lamuriou-se. – Tenho os nervos em franja.
O absurdo da situação perturbou Carol. A que propósito fora a
amiga ter com Rover ao quarto de banho? Pela cara do piloto, era
evidente que entrara sem se fazer anunciar, não lhe dando outra
opção a não ser permanecer dentro da banheira.
– Desculpa – pediu de repente Sara, saindo dali.
Só meia hora depois, quando já estavam todos fora da pensão
L’Oiseau Blanc, é que a minha prima percebeu a atitude da amiga.
Depois de pousar na mala do Citroën azul os seus pertences,
incluindo a caixa de papelão onde recolocara o chapéu,
Mademoiselle Laffitte cantarolou desafinada que não iria para
Bayonne, pois tinha família em Perpignan.
– Jamais le Portugal ou l´Espagne! – trauteou com aguda
estridência, como se os dois países fossem espinhos cravados na
sua garganta francesa.
Ainda zangada, a filha de Marcel desprezou-a.
– Também já não precisamos de si, a partir de agora vai o Rover
a guiar! Aliás, a senhora é insuportável! Nem quando o François
teve vontade de fazer xixi parou o carro!
O irmão olhou-a, siderado. Pela primeira vez, Sara defendia-o.
– Vamos embora! – ordenou esta. – Enfiem as bicicletas na
mala! Carol, o gato vai ao teu colo!
Foi nesse momento que Rover lhe disse só ter aceitado guiar o
carro para acalmar Sara. Num constrangedor silêncio, os cinco
enfiaram-se no Citroën, colocando a Hirondelle e a Peugeot na
mala, que teve de ir aberta.
Durante o trajeto até à praça principal de Bordéus, Mademoiselle
Laffitte manteve-se muda, ofendida com a reprimenda. E silenciosa
permaneceu quando saíram do carro e se aproximaram do rabi
Shimon, que viram em cima de um banco e com um grande baú ao
lado, donde retirava vistos. Dezenas de judeus rodeavam-no, à
espera de o ouvir chamar os respetivos nomes.
A dada altura, surgiu junto a eles o professor Katzenberg, que
logo se penitenciou: fora-lhe impossível obter um passaporte para
Rover, pois Aristides de Sousa Mendes, o cônsul português, já fora
para Bayonne, onde milhares tentavam passar a fronteira. Com um
sorriso de contentamento, o músico confessou a sua sorte.
Conhecera uma simpática francesa, que ainda pensara ser a noiva
por quem esperava. Infelizmente, era já casada com um judeu mais
velho do que ela, também gaulês. Valendo-se da sua amizade ao
rabi, Katzenberg conseguira arranjar vistos para o casal, recebendo
em troca uma boleia até Bayonne.
Depois de abraçar a minha prima, o professor de música
afastou-se e, para grande espanto dela e de Rover, cem metros à
frente entrou no Oldsmobile castanho de Edite e de Otto.
– A Monika estará lá dentro? – interrogou-se Carol.
O inglês confirmou, com a sua visão de águia localizara a
criança no banco de trás, no momento em que a porta se abrira para
Katzenberg entrar.
– Marido francês... Aquele Otto é muito suspeito – desconfiou o
piloto.
– Terão um visto para a criança? – questionou-se Carol, sabendo
perfeitamente que Rover não sabia a resposta.
Voltaram a observar a distribuição de vistos, enquanto o
Oldsmobile arrancava. Sara já se apresentara ao rabi e recebera
dele um envelope grosso e conselhos em voz baixa.
– O que te disse? – perguntou François.
– Temos de nos despachar – afirmou a irmã.
Para terror de todos, no momento em que Rover rodou a chave
do Citroën, ouviram uma forte explosão. Num ápice, a praça
principal da cidade esvaziou-se. No meio da confusão, o inglês
executou uma manobra ousada, enquanto François exclamava,
espreitando pelo vidro traseiro do carro: – Os panzers!
Pelo retrovisor, Rover ainda viu surgir o primeiro tanque alemão,
enquanto acelerava e deixava o local. Porém, alguns minutos depois
e já à saída da cidade, na estrada para Bayonne, parou de súbito o
Citroën na berma, ordenando a Mademoiselle Laffitte que tomasse o
volante.
– Moi? – espantou-se a governanta, apesar de tudo orgulhosa de
alguém lhe voltar a dar importância.
Rover explicou que, em Bordéus, havia um Consulado inglês,
onde teria de ir, pois não tinha passaporte. Agitada, Carol disse
imediatamente que ficava com ele e saiu do carro, dirigindo-se à
mala, a fim de retirar de lá as duas bicicletas. Para surpresa de
todos, Mademoiselle Laffitte imitou-a e abriu a sua caixa de papelão.
– Se vou guiar, preciso do chapéu! – cantarolou, antes de
colocar o dito na cabeça.
Irritada, Sara ignorou aquela separação imprevista e nem se
despediu, mas François acenou-lhes, vendo-os montarem na
Peugeot e na Hirondelle, onde Carol pousou o saco e o gato cego.
– Vamos – ordenou Rover.
Uma calma interior invadiu a minha prima, pois na presença
simultânea de Rover e de Sara sentira-se intranquila. Contudo, o
alívio durou pouco, já que dez minutos depois deram com o
Consulado britânico fechado.
– Vou ter de me safar a nado – brincou o piloto. – Ou de subir os
Pirenéus a pedalar para trás na tua Hirondelle.
Desapontados, regressaram à estrada para Bayonne,
continuando em silêncio durante algum tempo, até o desânimo se
transformar em susto, quando o Mercedes negro da Gestapo os
ultrapassou a alta velocidade!
– O coronel Schlez... não sei quantos – murmurou Rover.
21
Bayonne, 23 de junho de 1940
Quando Carol e Rover mergulharam na confusão de Bayonne,
furando a gigantesca fila de veículos que esperava a sua vez para
passar a fronteira, o inglês revelou uma preocupação: – Espero que
os teus amigos estejam mais para a frente. Muitos destes carros
não vão passar.
A minha prima mordeu o lábio inferior, ele era bom em previsões.
Se os nazis impedissem a saída para Espanha, o Citroën e o
Oldsmobile seriam condenados a um inferno imprevisível.
Esforçando-se para não entrar em pânico, continuou a pedalar até
que, de súbito, e à sua frente, vinda de uma estrada secundária,
surgiu uma carrinha Ford branca, pintada de ambulância da Cruz
Vermelha, cuja condutora buzinava com estridência.
– Cárol! – gritou Polly, inicialmente efusiva, mas logo
emudecendo, por ver Rover junto à minha prima. – Este veio
contigo? – questionou, incrédula.
– Fugimos juntos. Fui ter ao hospital e ainda estava lá. Ao
contrário de outra pessoa… – censurou-a Carol.
Atingida com precisão cirúrgica, Polly desfez-se em explicações:
a evacuação do hospital fora uma confusão, os franceses tinham-na
obrigado a uma viagem noturna até Versalhes.
– Eu queria voltar, mas não me deixaram. Fiquei danada, só que
não tinha forma de te avisar! Nem dormi! O Michael é testemunha!
O americano, sentado ao lado da condutora, piscou o olho a
Carol, sempre sugestivo, enquanto aquela se continuava a justificar:
– Os panzers não me largam, andam atrás de mim e...
Era como se as movimentações de uma imensa guerra
dependessem da posição do seu umbigo, ideia que não só
exasperou a minha prima, como também Rover, que interrompeu a
americana.
– Aqui há Consulado?
Os neurónios de Polly quase chocalharam, o despeito da
rejeitada a lutar contra a sedutora implacável. Venceu a última.
– Não, mas há soldados ingleses em Pau, eu vou para lá –
ronronou. – O Michael segue para Portugal, podes vir no lugar dele.
Sem demoras, o americano saiu da ambulância, enquanto Rover
matutava e a minha prima se angustiava em silêncio.
– Então? – insistiu Polly. – És inglês, não passas na fronteira.
– Não deixo a minha namorada sozinha – declarou o piloto,
fazendo trepidar de júbilo o coração de Carol.
A condutora da ambulância empalideceu. Nem por um segundo
lhe passara pela cabeça a possibilidade de, em vez de aceitar os
avanços dela em Paris, o inglês ter preferido namorar com uma
portuguesinha que considerava maçadora.
Já junto às bicicletas, Michael provocou a amiga.
– Foste rápida de mais a despachar-me. Agora, nem um, nem
outro!
Tentando não mostrar fraqueza, Polly acendeu um cigarro e logo
lavrou uma queixa: – Estou farta de transportar cadáveres, espero
que os ingleses estejam vivos.
Preparava-se para mais uma dissertação, mas Michael
interrompeu-a: – Sei de uns tipos que te podem ajudar com o
passaporte – fez um gesto para Carol e o piloto o seguirem.
Ao ver os três partirem, Polly desesperou: – Rover, se não te
safares, vem ter comigo!
Pouco depois, escutaram o chiar dos pneus da ambulância a
inverter o sentido de marcha, dirigindo-se à estrada para Pau.
– Que maluca… – comentou Michael. – À noite parece um
alambique, a cozer o whisky que bebe. Em Poitiers, os do quarto ao
lado queixaram-se, o ressonar dela não os deixou dormir!
Carol e Rover riram-se, mas não estavam preparados para o que
se seguiu. Michael declarou-se envergonhado com os gritos de Polly
na cama e desatou a imitar os sons extáticos dela: «Oh!, meu Deus,
és tão forte, que banana tão grande!» Aparentemente, a festiva
americana saltitava entre a religião e a fruta. «Que grandes nozes,
Nossa Senhora me acuda; adoro o teu leite de coco, meu santo; ó
milagreiro, ressuscitas uma morta!»
Ao ouvir esta última frase, a minha prima foi incapaz de conter a
malícia.
– Como se estivesse sozinha há muito tempo!
Michael surpreendeu-se: – Disse-me que não dormia com um
homem desde que se divorciou, há mais de um ano! E pela forma
como berrava, pareceu-me verdade.
Carol revirou os olhos, sem paciência para tanta falsidade. Mas
não mencionou os holandeses e os franceses que Polly colecionara.
Certas coisas deviam ficar entre mulheres.
– As americanas são umas galdérias! – acusou o já desconfiado
Michael, proporcionando à minha prima uma silenciosa mas
divertida conclusão: o vírus de Polly contagiara-o, bastara uma
pequena desilusão privada e também ele já generalizava defeitos.
– Mas tu és americano – disse Rover.
Michael sorriu.
– Vivi muitos anos na Libéria, onde estudei em colégios ingleses.
Nesse momento, cem metros à frente, Carol viu o Citroën azul.
De súbito alerta, Rover examinou as redondezas.
– O que foi? – perguntou Michael.
O inglês fez-lhe um breve resumo da situação, referindo Marcel e
a Gestapo.
– Mas o Mercedes não está cá.
Junto ao Citroën, uma distraída Sara encostava-se ao carro e
François dormitava no banco traseiro, enquanto Mademoiselle
Laffitte, sem chapéu, se mantinha sentada no lugar do condutor.
– Estás bem? – perguntou a minha prima.
Sem espanto, doçura ou alegria, a amiga queixou-se de que a
fila andava a passo de caracol, estavam quase no mesmo sítio há
um dia! Tivera de ir fazer as necessidades atrás de umas casas e
Mademoiselle Laffitte continuava a jurar que não passava a
fronteira.
– Até já tirou o chapéu!
Carol sentiu-a à beira do colapso e por isso não referiu o
Mercedes da Gestapo. Aliás, a breve conversa foi interrompida,
pois, mal os viu, a governanta saiu do Citroën.
– Chegou a hora de partir! A estação para Perpignan é ali –
anunciou Mademoiselle Laffitte, com as habituais flutuações de voz.
Teimosamente pomposa, dirigiu-se à bagageira do carro, donde
retirou a mala, o saco, os dois nécessaires e a caixa de papelão
com o chapéu.
– Adieu, mon petit pirate! – cantarolou, abraçada a François,
suprimindo o afeto e os sons ao despedir-se de Sara.
Contudo, como esta se agarrou a ela a chorar, pedindo-lhe
desculpa pelo mau feitio e agradecendo-lhe por os ter trazido até ali,
murmurou um «merci» e, ainda ofendida e magoada, afastou-se a
arrastar os pertences, no sentido inverso ao de todos os outros, qual
única alma louca do universo que, em vez de fugir dos alemães, se
ia entregar nas mãos deles.
O espanto geral fez com que se mantivessem em silêncio uns
minutos, até que Rover propôs que fosse Michael a guiar o Citroën.
O americano, que admirava a filha de Marcel, aceitou sem hesitar.
– Tenho carta e tempo – disse a sorrir. Porém, quando viu Sara
revirar os olhos sem pachorra, logo se enxofrou: – Olha, olha, pensa
que sou o chauffer dela!
– Não me apertes! – gritou François, irritado por ter de dividir o
banco traseiro com a irmã.
Seguiu-se mais uma berraria, enquanto Michael perguntava a
Rover se já dormira com francesas. Ouvindo-o negar, bufou,
desapontado: – Nem eu. Não sei o que pensar delas!
Entretanto e vindos a pé do Oldsmobile, Otto e Edite
aproximaram-se, esta última trazendo Monika pela mão. Contente
por a rever, a criança sorriu a Carol.
– Não a posso levar – sentenciou Otto, sem remorsos.
Edite acrescentou que nem o dinheiro do alemão convencera o
cônsul português. A criança era apátrida, só lhe davam um visto se
estivesse com os pais.
– Temos de a deixar com vocês.
Para a acalmar, a minha prima disse a Monika, em alemão: –
Vamos viajar juntas.
Aliviado, Otto dirigiu-se de volta para o Oldsmobile, pois a fila de
carros recomeçou a avançar. Naturalmente, Edite optou por segui-
lo, não sem antes ter atirado um adeus a Monika e soprado beijos a
Rover e a Michael.
– Afinal, há francesas dadas! – alegrou-se este último.
– Esta só vai com o alemão por dinheiro – esclareceu-o Carol.
– Coisa de que todos precisamos... – retorquiu Michael. Ia
prosseguir o raciocínio quando franziu a testa: – Alemão?
A minha prima denunciou Otto, que em Bordéus alegara ser
francês e casado com Edite, quando era alemão e dava boleia a
uma prostituta de rua.
– Ela trabalha em cabarés, não na rua! – contestou Rover. –
Estava na estrada naquele dia, como toda a gente.
Carol mirou-o, zangada.
– Agora defendes a galdéria?
– Não é má pessoa – retorquiu o piloto. – Queria levar a miúda, o
Otto é que não a deixou.
– Só porque lhe dava jeito, é uma interesseira – criticou a minha
prima, e mais argumentos teria apresentado para denegrir Edite não
fosse ter surgido junto deles o professor Katzenberg, que também
abandonara o Oldsmobile.
– Aquele tipo é sinistro – afirmou o músico, referindo-se a Otto,
na companhia de quem recusara continuar. – Odeia judeus!
Para o alegrar, a minha prima sugeriu que seguisse com os filhos
de Marcel, recebendo em troca mais uma declaração de amor: –
Carol, se fosse mais novo, pedia-a em casamento em Bayonne!
Dentro do Citroën, o grupo recompôs-se, agora com Michael ao
volante e Katzenberg ao seu lado, enquanto Sara e François se
sentavam no banco de trás. Na rua, a pequena Monika deu a mão a
Rover, que a sentou na grelha da Peugeot, pois precisavam de obter
um visto para ela.
Em cima da Hirondelle, a minha prima sorriu aos amigos, mas
depois lembrou-se do Mercedes da Gestapo e mordeu o lábio. Onde
estariam os alemães?
22
Bayonne, 23 de junho de 1940
Naquela agitada noite, o cônsul Aristides de Sousa Mendes
improvisou. Não havendo em Bayonne instalações consulares
portuguesas, sentou-se na esplanada de um café para despachar os
pedidos de uma multidão de desesperados. Famílias inteiras ou
apenas casais, mães com crianças ou idosos solitários,
acotovelavam-se para expor casos dramáticos e convencer o cônsul
da urgência e legitimidade dos pedidos. Perante a iminente chegada
dos panzers, nem depois de jantar o prestável diplomata suspendeu
o processo.
Quando Rover, Carol e Monika se apresentaram na esplanada –
a cem metros da estação onde Mademoiselle Laffitte estava sentada
num banco, ao lado da mala, do saco, dos nécessaires e da caixa
de papelão –, cada pedido de visto já era despachado com uns
rabiscos e um carimbo rápido. Contudo, se a situação de Carol se
apresentava simples, pois era portuguesa e queria apenas regressar
ao seu país, as de Rover e da pequena Monika revelavam rara
complexidade. Sem passaportes, não havia onde o cônsul lhes
apensasse um visto de entrada em Portugal, mas perto da meia-
noite o simpático homem entregou ao rabi Shamon um envelope,
que este passou a Rover.
– São os passaportes de uma família de judeus, já com os vistos
– informou o inglês. Segundo o rabi, não haviam sido reclamados. –
Ninguém sabe deles.
No primeiro documento, a fotografia era de Heinz, um judeu
alemão de quarenta anos, mais velho do que Rover, com cara larga
e cabelo escuro.
– Nada parecido comigo! – exasperou-se o piloto.
– Mas a Monika pode passar por esta – afirmou Carol, ao ver
que um dos passaportes era de uma menina que na fotografia
também tinha cabelos aos caracóis, quem olhasse à pressa podia
ser ludibriado.
– Faltam os bilhetes de barco para deixar Lisboa... – resmungou
Rover. Aristides de Sousa Mendes já não estava a exigi-los como
condição essencial, mas na fronteira portuguesa poderiam ter de os
mostrar. – Não vou passar só com isto!
Carol animou-o.
– Havemos de conseguir! Eu e a Monika distraímos os guardas.
Rover sorriu-lhe.
– Vais arriscar-te por mim?
Ela garantiu-lhe que sim.
– O Chamberlain vai no cesto e levamos a Hirondelle e a
Peugeot pela mão, também fazem parte da família.
Depois de jantarem no café, voltaram à fila. Como as bicicletas
podiam passar entre os carros, convenceram-se de que apanhariam
o Citroën, pois a lentidão dos automóveis mantinha-se. Porém,
Monika estava cheia de sono e Carol receava pousá-la na grelha da
bicicleta, donde podia cair. Então, Rover pegou nela ao colo,
enquanto Carol levava as bicicletas, uma em cada mão. Passaram
perto da estação, onde Mademoiselle Laffitte permanecia sentada
no banco, com a cabeça tombada para a frente, a dormitar. Carol
ainda pensou lá ir, mas o inglês considerou não ser necessário, a
noite apresentava-se amena, talvez a governanta ficasse melhor do
que eles.
Tinham avançado cinquenta metros quando ouviram o ronco de
um motor e um chiar de travões. Aterrados, identificaram o
Mercedes da Gestapo, donde saíram o coronel e o ajudante.
– Vamos! – ordenou Rover em voz baixa, indicando um mureto
que delimitava um pequeno jardim.
Atrás daquele, o inglês pousou Monika no chão e Carol deitou as
bicicletas, silenciosamente. Por alguma razão que desconheciam, o
Mercedes só regressara à uma da manhã, parando à frente da vazia
estação de comboios que ligava Bayonne ao resto da França.
– Coitada... – murmurou Rover.
– Achas que…? – Carol levou a mão à boca.
O coronel alemão retirara a arma do coldre e gritava com
Mademoiselle Laffitte, apontando-lhe a Mauser Luger P08.
– O que diz ele? – perguntou Rover.
Carol fez um esforço para perceber o alemão.
– Onde está Marcel? O judeu falou com os filhos? – repetiu.
A pobre governanta negava, mas Schlezinger insistia,
aproximando a pistola das têmporas dela e ameaçando-a de morte.
Aterrada, Mademoiselle Laffitte cedeu: o pai de Sara enviara uma
mensagem, traduziu Carol.
– Não digas nada – pediu Rover, como se estivesse a comunicar
instruções à governanta por um rádio imaginário.
– Têm de ir para Portugal – continuou a minha prima.
A corajosa Mademoiselle Laffitte não denunciou o local do
próximo encontro, San Sebastián, oferecendo apenas uma
informação incompleta mas plausível, pois a maioria dos que fugiam
por Bayonne só atravessaria Espanha, ainda destruída pela recente
guerra civil, tendo Portugal como destino final.
– Oh, não! – gritou Rover, de repente.
O inglês ainda colocou o braço esquerdo à frente da cara da
minha prima, para a impedir de ver o coronel Schlezinger encostar a
Mauser à nuca de Mademoiselle Laffitte e, sem hesitação, disparar
um tiro, cujo estampido fez eco nas paredes da estação, enquanto a
desgraçada governanta caía desamparada, aos pés do carrasco,
que apreciou a sua obra sinistra com evidente contentamento.
Carol desatou a tremer, recordando o acontecido dias antes, à
porta de casa de Sara, quando Mademoiselle Laffitte paralisara
perante a pistola do alemão, como se tivesse visto a própria morte.
Rover sentiu o espasmo dela e, tal como Madre Mary, na estrada de
Orleães, colocou-lhe a mão na testa. O que lhes valeu foi a distância
que os separava da estação, pois, se os nazis estivessem mais
perto, teriam ouvido os vómitos de Carol.
– Desculpa, tentei evitar que visses – sussurrou Rover, depois de
o Mercedes partir.
A minha prima chorou uma hora inteira, durante a qual Monika
dormiu no chão, em cima da erva, tal como Chamberlain, enrolado
ao lado da criança. Quando finalmente ela se recompôs, o inglês
decidiu ser melhor ficarem ali a descansar, até ao nascer do Sol.
– Porque a mataram? Não fez nada de errado! – protestou Carol.
– Porque querem e podem – contrapôs Rover. A Gestapo não
eliminaria os filhos de Marcel, mas Mademoiselle Laffitte era
dispensável. Separada de Sara e François, ficara vulnerável.
Mesmo assim, fora leal até à morte, concluiu o piloto. – Merece a
nossa admiração.
– Vais enterrá-la? – perguntou Carol, mas já sabia a resposta,
ele não tinha como nem onde o fazer.
O inglês examinou o jardim e depois o edifício adjacente, que
parecia um armazém. Aproximou-se da porta e abriu-a. Após uma
breve inspeção, veio buscar Monika e Carol levou as bicicletas pela
mão. Já lá dentro, fizeram duas camas improvisadas, com roupa
velha que descobriram num canto. Deitaram Monika numa delas e
mantiveram-se calados durante bastante tempo, ainda abalados
com o que tinham visto. Contudo, continuavam sem sono, estavam
agitados com o que haviam passado e com o futuro que os
esperava.
– Os alemães irão estar na fronteira. Talvez seja melhor
colocares um chapéu na cabeça – sugeriu finalmente o inglês.
Carol fez uma careta desagradada, mas ele insistiu e, com
lentidão calculada, saiu do armazém. Avançou a coberto das
sombras da rua até à estação, onde subiu à gare e passou pelo
corpo de Mademoiselle Laffitte, como se este não estivesse lá,
pegando apenas na caixa de papelão.
– Vão as duas de chapéu – disse quando regressou ao
armazém, apontando para o de Monika. – Mãe e filha.
De seguida, sentou-se, acendeu um charuto e abriu o saco dela,
donde retirou uma garrafa de rum.
– Era a última no café.
Sorveu um gole pelo gargalo e incentivou Carol a beber, mas
esta recordou em voz alta os conselhos de Madre Mary.
Rover sorriu-lhe.
– Não és freira, nem casada.
Após vários goles, Carol sentiu o efeito do rum, era como se
alguém tivesse colocado óleo nas suas articulações. Estava mais
solta, mas também mais feroz nos pensamentos.
– Gostaste da Sara? – perguntou.
– É bonita, mas não faz o meu tipo – respondeu o piloto.
– Qual é o teu tipo? – perguntou ela.
– Morena, portuguesa e que goste de andar de bicicleta.
Carol riu-se.
– E que lave a tua roupa?
Rover fingiu que não percebera.
– Vais lavá-la aqui? – depois rodou o corpo e pousou a sua única
mão no rabo de Carol.
– Podes apertar, como da outra vez – riu-se ela.
O piloto puxou-lhe a saia para cima e afagou-lhe as nádegas.
Depois, abriu-lhe a camisa, desapertando os botões. Tocou-a no
peito e ela gemeu, fechando os olhos, enquanto ele a começava a
beijar nos mamilos.
– Mais – pediu.
Rover auxiliou-a a tirar a camisa, a saia e as cuecas, tocando-a
com os seus longos dedos, até ela exigir que a beijasse mais
abaixo. O oposto da morte não é a vida, mas sim o amor, pensou
Carol, quando a língua dele a começou a explorar.
23
Bayonne, 24 de junho de 1940
No dia em que os nazis fecharam a fronteira entre França e
Espanha, Rover cometeu o seu único erro. Convencido por Carol a
evitar um dramático suicídio e a fugir do hospital, o inglês revelara-
se um companheiro seguro, com uma coragem e uma lucidez
notáveis. Naqueles doze dias em que pedalaram juntos, nunca
falhou à minha prima, nunca a abandonou ou traiu, foi mal-educado,
agressivo ou malicioso. Pelo contrário, tinha sido uma rocha segura,
um confidente atento e um amante devoto.
Carol confessar-me-ia em Lisboa que nunca pensara ser
possível alguém amá-la sem dúvidas, desconforto ou zangas.
Pudera sempre contar com a força de espírito dele, com a sua única
mão e o seu corpo magro mas rijo.
– Jack, noventa por cento de ser homem é estar lá – disse-me
ela nessa tarde. – Sempre que é preciso, a toda a hora. E Rover
esteve.
Só que, naquele dia, um inesperado ânimo apoderou-se do piloto
quando viu quatro ingleses numa carroça, percebendo de imediato
que eram compatriotas. Subitamente contente, perdeu por instantes
o bom senso e foi apresentar-se àqueles que, como ele, tinham sido
desviados pela guerra e agora queriam regressar a Inglaterra e à
luta. O convívio durou pouco mais do que o tempo de um cigarro,
mas tanto tagarelar em inglês deu nas vistas.
Nessa manhã, Rover, Carol e Monika só se fizeram à estrada
pelas dez, e de bicicleta foi-lhes fácil avançar até à fronteira, onde
os guardas agrupavam veículos e pessoas e mandavam avançar
cada bloco à vez, examinando os passaportes com leviandade. A
haver problemas era do lado espanhol, onde os documentos
demoravam mais tempo a ser verificados, obrigando cada grupo a
aguardar em cima da ponte de Hendaia.
Ao chegarem, viram o Citroën azul já a ser escrutinado pelos
espanhóis, enquanto o Oldsmobile se encontrava à espera no bloco
seguinte, com Katzenberg ao volante, o que estranharam.
Mal os viu, Edite saiu do carro e recuou uns metros, até ao final
do grupo onde estava.
– O Otto desapareceu, mas o professor sabe guiar, é a minha
sorte! Espero que passem.
À frente deles e em cima da ponte, a agitação crescia. Muitos
eram barrados e obrigados a voltar para trás, por não terem os
papéis em ordem. Ouviam-se gritos de revolta e zangas. Alguns
foram mesmo presos e levados para uns barracões de madeira com
mau aspeto, à direita da ponte. Porém, as coisas foram andando até
à chegada dos tanques nazis, que alterou o estado de espírito de
todos. Os que estavam mais atrás na fila ficaram aterrorizados,
percebendo que não iriam chegar a Espanha. E os que
permaneciam em cima da ponte pressionaram os guardas, com
receio de serem obrigados a dar meia-volta.
Os panzers estacionaram uns metros atrás de Rover e Carol, e
alguns soldados alemães saltaram para o chão, mas nada fizeram
até aparecerem dois carros. Num descapotável do exército, vinha
um oficial muito aprumado, provavelmente o comandante daquela
divisão. E no Mercedes da Gestapo estavam Schlezinger e os seus
dois comparsas.
– Ó diabo – murmurou Rover, ordenando a Carol que enfiasse o
chapéu na cabeça.
O bloco deles tinha quinze carros, quarenta pessoas a pé, sete
bicicletas, três motos e a carroça dos ingleses.
– Eles passaram – informou a minha prima.
O Citroën azul já entrara em Espanha e parara depois da
fronteira. Michael estava fora do carro, a observar os
acontecimentos do lado francês, onde os guardas deram ordem de
avanço ao grupo do Oldsmobile.
– Com sorte estamos safos – disse Rover, forçando um sorriso.
Mas Carol sentiu-o alarmado, já prevendo o que aí vinha. De
súbito, ouviram-se ordens e inúmeros soldados alemães
aproximaram-se de metralhadoras em punho, preparando-se para
fechar a fronteira, enquanto Schlezinger caminhava na direção
deles.
Um arrepio desceu pelas costas de Carol, quando viu os guardas
franceses denunciarem os ingleses da carroça. Dez metros atrás
dela, os compatriotas de Rover foram obrigados a saltar para o
chão, levando várias coronhadas nas costas, antes de serem
encaminhados para os barracões de madeira com as mãos na nuca.
– Canalhas – rosnou Rover. – Se ainda tivesse a pistola
comigo...
Carol agradeceu a Deus ele não a ter, desatar aos tiros ali seria
um disparate, precisavam de passar despercebidos. Sorriu a
Monika. A menina apontou para a ponte, onde o Oldsmobile já se
encontrava, no preciso momento em que Carol viu surgir, à sua
direita, um atento Schlezinger, a examinar cada um dos presentes
naquele bloco.
Rover afastou-se um metro dela, prudentemente, mas o ajudante
do coronel apontou para a bicicleta e depois para Carol.
– Reconheceram a Hirondelle – avisou o piloto. Porém, como o
coronel se limitou a abanar a cabeça, o inglês tranquilizou-a: – Pelos
vistos, não é a ti que querem.
Schlezinger observava agora o lado espanhol, onde ainda
permanecia o Citroën azul.
– Ponham-se a andar… – murmurou Rover, mais uma vez como
se estivesse a dar ordens aos outros através de um rádio
imaginário. – Esperem em San Sebastián.
Foi nesse momento que um dos guardas franceses, traiçoeiro e
medroso, quis agradar a Schlezinger e apontou para o meio do
grupo, onde se encontrava o inglês. O coronel alemão semicerrou
as pestanas, focando o piloto e sorrindo ligeiramente.
Meses mais tarde, já em Lisboa, Carol admitiu que só percebeu
que Rover já sabia que ia ser preso quando o bloco deles finalmente
avançou e ele lhe deu a mão esquerda, que ela sentiu húmida, o
que jamais acontecera. O piloto nunca suara da mão com medo.
– O que foi? – perguntou Carol, assustada com a palidez dele.
– Amo-te, não te esqueças nunca – disse Rover, que se deixou
ficar parado, enquanto ela era empurrada para a frente pelos outros.
Segundos depois, o inglês foi cercado por dois soldados
alemães e pelo ajudante de Schlezinger, que o impediram de
prosseguir. A minha prima ia gritar, mas o olhar de Rover impediu-a
e susteve o berro na garganta, o seu corpo em choque, os seus
olhos presos nos dele, uma dor profunda a rasgá-la por dentro, o
terror de mais uma perda, agora a maior de todas, a aproximar-se.
Contudo, permaneceu de mão dada com Monika, pois a criança
procurava a segurança que Carol lhe transmitia. Atordoada, apertou
também o guiador da Hirondelle e prosseguiu rodeada de estranhos,
as lágrimas a escorrerem-lhe pela cara, como se caminhasse num
inferno íntimo e solitário.
Dentro do cesto, Chamberlain sentiu a ausência de Rover e miou
várias vezes, e esse som triste e angustiado do gato destroçou-a.
De repente, a meio da ponte, sentiu os joelhos falharem e a cabeça
a andar à roda. Desfalecia e quem lhe valeu foi um desconhecido,
que a amparou e lhe disse em francês: «Tem de continuar.»
Arrastou-se, seguindo em frente e forçou um sorriso a Monika,
ouvindo-a cantar o único refrão que sabia em francês: «Sur le pont,
D´Avignon, on y dance, on y dance...»
O coração de Carol contraiu-se, ao mesmo tempo esmagado de
dor e comovido pela voz fina da criança. Apesar de ter os olhos
turvos de lágrimas, virou-se para trás e identificou o grupo dos
ingleses, junto aos barracões, em fila indiana. Rover era o do meio e
os cinco estavam a ser conduzidos pelos nazis para as traseiras
desses barracões. Se Carol soubesse o que era um pelotão de
fuzilamento teria percebido o que se preparava, mas só quando
ouviu os tiros é que tomou consciência da gravidade da situação e o
seu espírito se turvou de negro.
– Jack, não me recordo de mais – contou-me ela, meses depois.
Não se lembrava de ter mostrado os seus documentos e os de
Monika aos guardas espanhóis, do gato dentro do cesto ou sequer
de levar pela mão a Hirondelle! Só vira negro. Michael é que lhe
dissera que, ao chegar a Espanha, a pequena Monika ainda ia a
cantar o sur le pont, enquanto Chamberlain miava muito.
Em Bayonne, do lado francês da ponte, a bandeira nazi acabara
de ser hasteada. Os soldados de Hitler tinham ocupado a França
até aos Pirenéus, algo totalmente impensável apenas umas
semanas antes.
– E Rover? – perguntei.
– Foi fuzilado pelos nazis, por ordens de Schlezinger. E eu morri
com ele – disse a minha prima. – A Rover faltava-lhe a mão direita e
a mim, desde esse dia, falta-me metade do coração.
PARTE III
DESENCONTROS
24
Hendaia, 24 e 25 de junho de 1940
Entre os dias 24 de junho e 29 de julho, portanto durante mais de
um mês, Carol pensou que Rover fora fuzilado pelos nazis, em
Hendaia, atrás daqueles barracões. Ou seja, viveu um tremendo
desgosto e agiu como se ele tivesse morrido. Porém, não foi isso
que aconteceu, Rover não morreu nesse dia, embora tenha sido
gravemente atingido na barriga.
Na verdade, o coronel Schlezinger deu uma primeira ordem para
que os ingleses, os quatro que estavam na carroça e Rover, fossem
mortos a tiro um a um. Por isso, eles foram colocados ao lado uns
dos outros atrás dos barracões, mas quando os primeiros dois tiros
soaram, os que Carol ouviu já na ponte de Hendaia, só um dos
ingleses foi morto, o último da fila e o único que ela viu a cair no
chão, pois tombou para a esquerda, sendo apanhado pelo campo
de visão da minha prima, que assumiu, tal como Michael e os que
se encontravam já em Espanha, que os cinco ingleses tinham sido
mortos ao mesmo tempo.
No entanto e uns instantes antes de soarem mais dois tiros, algo
de totalmente inesperado aconteceu, atrás dos barracões. Rover,
que estava no centro da fila, percebeu que o inglês à sua esquerda
seria o próximo a ser morto e, apesar de ter os braços atados atrás
das costas, como não tinha mão direita e apenas um coto, algo que
o guarda que o atara não levou em conta, conseguiu libertar-se.
Num gesto brusco, atirou-se para a frente do compatriota que ia
ser executado, sendo atingido na barriga pelo primeiro tiro,
enquanto a segunda bala ia chocar com a parede de madeira, a
milímetros da cabeça do inglês, pois o atirador ficou de tal forma
surpreendido com o movimento de Rover que errou o tiro.
Naturalmente, o piloto caiu para trás com o impacto do projétil,
arrastando o compatriota e já a sangrar. E foi nesse momento que
aconteceu novamente o inesperado. O coronel Schlezinger, que
assistia às execuções uns metros atrás do atirador, ficou de tal
forma impressionado com a coragem de Rover, que deu ordem para
que a execução dos ingleses fosse suspensa.
Depois de uns segundos pasmado, a mirar o sangue que
escorria da barriga do piloto, gritou ao ajudante que fosse chamar
um médico, para examinar o ferido. Alguns minutos mais tarde,
Rover foi assistido no local, enquanto os seus três compatriotas
eram levados para um camião nazi e o morto transportado para o
hospital de Hendaia, onde o piloto também foi parar mais tarde,
levado por uma ambulância alemã, por vontade expressa de
Schlezinger.
Ao princípio da noite, Rover foi operado por médicos franceses,
sob a supervisão do coronel, que estava empenhado na salvação do
inglês e terá comentado com os enfermeiros presentes que se
tratava de um soldado de grande dignidade, que devia ser
respeitado mesmo sendo seu inimigo.
A intervenção cirúrgica foi demorada e complexa, Rover fora
atingido no abdómen e a bala perfurara-lhe o estômago, mas os
médicos lá a conseguiram extrair, cosendo depois a ferida. Apesar
de em estado grave, o piloto não corria perigo de morte e os
médicos consideraram que iria sobreviver, embora tivesse de ser
seguido atentamente, pois havia a possibilidade de o estômago se
recusar a funcionar.
Anestesiado, Rover passou a noite a dormir e, no dia seguinte de
manhã, os médicos franceses ainda tentaram conversar com ele,
mas as únicas perguntas que fazia eram sobre Carol e os
compatriotas, o que impossibilitou qualquer esclarecimento, uma
vez que naquele hospital ninguém sabia de quem ele falava.
Só quando o coronel Schlezinger reapareceu, por volta das onze
da manhã, é que Rover conseguiu obter as respostas que
procurava. O alemão entrou pela enfermaria com a arrogância dos
conquistadores de um novo país, a dar ordens à direita e à
esquerda, mas acalmou quando chegou à cabeceira do piloto, pois
viu-o acordado e capaz de conversar.
– Fez uma loucura – declarou o coronel. – De grande coragem.
– Tenho um instinto suicida – contrapôs Rover, revelando que em
Paris levara uma pistola à boca e estivera prestes a matar-se.
– Porque não o fez? – perguntou Schlezinger, curioso.
– Uma rapariga convenceu-me – revelou o inglês.
– A portuguesa?
– A Carol – afirmou Rover. – Sabe dela?
Schlezinger respondeu que a minha prima já estava em
Espanha, com os amigos do Citroën e do Oldsmobile.
– Não tenho nada contra eles. Há alguns judeus, mas só me
interessam porque me levam a alguém.
– Marcel… – murmurou o piloto.
– Sabe onde está? – perguntou o coronel.
O inglês abanou a cabeça, fazendo um esgar de dor, pois
mexeu-se de mais. Só sabia que Marcel mandara os filhos seguir
para Portugal.
– Porque o perseguem?
– É um inimigo do Terceiro Reich e cúmplice de um criminoso
alemão – declarou Schlezinger.
O piloto defendeu que Mademoiselle Laffitte não merecia levar
um tiro na nuca, sabia tanto como ele ou Carol, ou Edite, ou Otto, ou
Katzenberg, ou os filhos de Marcel. Ou seja, nada que justificasse
ser abatida como um cão.
O coronel mostrou-se incrédulo.
– De que fala?
Rover semicerrou os olhos.
– A Carol e eu estávamos escondidos num jardim, perto da
estação. Vimo-lo chegar no Mercedes, com os seus homens.
Assistimos à execução.
O alemão franziu a testa.
– Não sei a que se refere.
O inglês contou que fora buscar o chapéu da Mademoiselle ao
apeadeiro, onde ela estava morta, numa poça de sangue.
Por um segundo, Schlezinger pareceu enervado, mas logo
desviou o tema da conversa.
– Referiu um Otto…
Rover disse tratar-se de um cliente da francesa Edite, que esta
encontrara numa pensão em Orleães.
– Alemão? – interrogou Schlezinger.
O piloto encolheu os ombros, mas o esforço muscular provocou-
lhe novas dores e ficou mais algum tempo silencioso, enquanto a
aflição amainava na sua barriga.
– Não vou poder comer durante muito tempo – queixou-se. –
Talvez fosse polaco, húngaro, ou checo. Não lhe perguntei. O
músico é que era alemão.
O coronel continuava enervado.
– Posso mandar torturá-lo…
A ameaça fez Rover sorrir.
– Primeiro, quis matar-me; depois, mandou-me para o hospital
para me salvar e agora quer torturar-me? Não mereço tanta
dedicação, sou um piloto sem mão direita, nunca mais posso abater
os vossos Messerschmitt.
Schlezinger estava novamente impressionado.
– Admiro-o, mas vou ter de o prender. Como fiz aos seus
colegas.
– Onde estão? – perguntou Rover, sem disfarçar a expectativa.
O coronel avançou que só um deles morrera, os outros três
tinham sido enviados para um campo de prisioneiros ali perto, para
onde o piloto também iria, logo que estivesse em condições.
– Vai continuar a perseguir a Sara e o François? – perguntou
Rover.
O alemão encolheu os ombros, eram essas as ordens.
– Se fizer mal à Carol, só descanso quando o matar – prometeu
o piloto, de olhos fixos nos do coronel.
Este sorriu sem receio e afirmou que o inglês ia apodrecer até ao
final da guerra num campo de prisioneiros, em Gurs, a comer mal e
a vomitar todos os dias. Quanto a Carol, classificou-a com uma
rapariga imprudente, pois falara com Marcel em Paris. Porém, e
apesar disso, não lhe tencionava fazer mal.
– Basta-me segui-la e aos amigos, para apanhar o Marcel.
No final desta proclamação, Schlezinger desejou as melhoras a
Rover e saiu da enfermaria, deixando o inglês sozinho, cheio de
dores e de saudades de Carol.
– Onde raio fica Gurs? – murmurou, levantando o lençol que o
cobria, para observar os pensos.
25
San Sebastián, 24 de junho de 1940
No dia em que a minha prima veio falar comigo, ao escritório da
companhia de navegação, em Lisboa, já recuperara dos violentos
abalos sofridos com as mortes de Madre Mary e Mademoiselle
Laffitte, bem como da notícia do fuzilamento de Rover. Porém, ainda
sofria de pesadelos e alucinações.
– Jack, o meu cérebro prega-me partidas. Por vezes, não sei se
estou a sonhar ou se é real o que vejo.
Convencida de que o piloto inglês morrera, Carol sofrera vários
colapsos, que apresentavam uma inesperada característica: as
súbitas chegadas e partidas. De repente, via tudo negro, tremia e
balbuciava, sem controlo sobre o corpo, os pensamentos ou as
emoções. Embora não desmaiasse, não se recordava do que dizia
ou fazia durante o tempo em que permanecia catatónica. Contudo,
minutos depois, podiam ser dois ou dez, pois a duração daqueles
buracos negros era imprevisível, voltava a si com dores de cabeça.
Sara, que chegara a ser antipática com Carol, mal a viu naquela
perdição dedicou-se-lhe com uma entrega absoluta. Abraçava-a e
falava-lhe com ternura e nunca a deixou sozinha. Se até ali parecera
algo leviana com a minha prima, a partir de Hendaia confortou-a
como mais ninguém conseguiu.
É certo que, naquele improvável grupo, todos se compadeceram
dela. Michael suspendeu os avanços de mulherengo, pelo menos
por uns dias; François sorria sempre que se cruzavam; o atencioso
Katzenberg passava horas a cantar-lhe músicas; e até Edite, que se
atirara a Rover com descaramento, procurava que se alimentasse
bem. Mas, sem Sara a seu lado, provavelmente Carol teria
endoidecido de desgosto.
Foi, aliás, por causa dela que a amiga ordenou uma diferente
distribuição pelos automóveis, ainda em Hendaia. No Citroën,
guiado por Michael, iriam agora Edite e François, que suspeitou logo
de que a francesa obviamente preferia viajar com um tipo novo e
divertido, em vez de o fazer com Katzenberg, que continuou a
conduzir o Oldsmobile, levando ao lado Sara e, no banco de trás,
Monika, Carol e Chamberlain, que miava constantemente e virava o
pescoço de um lado para o outro, à procura do dono, caindo numa
letargia semelhante à da minha prima por não ouvir a voz de Rover.
– Coitado – murmurava Sara, fazendo mais uma festa ao gato.
Na Pensão Real, em San Sebastián, onde chegaram ao final
desse dia, conseguiram apenas dois quartos. As três mulheres
ficaram com Monika; os dois homens com François. Depois dos
banhos, desceram para jantar, mas Carol só o fez por insistência de
Edite.
Durante o repasto frugal, Michael relatou as novidades. Eles
tinham sido dos últimos a beneficiarem da solidariedade do cônsul
Aristides de Sousa Mendes, que fora demitido pelo Governo de
Portugal, por ter dado demasiados vistos sem respeitar as regras. O
ministro dos Negócios Estrangeiros português estivera à tarde em
Irun, do lado espanhol da fronteira, para suspender a entrada de
mais gente.
– Temos de chegar a Portugal depressa – avisou o jornalista,
receoso de que Salazar fechasse as fronteiras.
Para além da urgência, existiam novas dificuldades. Espanha
estava na miséria e a gasolina era racionada. O país saíra, no ano
anterior, de uma brutal guerra civil, onde se haviam confrontado a
direita monárquica e cristã, aliada à extrema-direita falangista e a
Hitler; e a esquerda republicana e socialista, aliada aos comunistas
e apoiada pelos soviéticos.
– Foi uma carnificina – recordou Michael, narrando as matanças
praticadas pelos dois lados. – No final, venceu Franco.
Na Espanha blanca, os judeus também não tinham muitos
amigos, avisou o jornalista, olhando para Katzenberg e depois para
Sara. Portanto, o melhor a fazer era seguirem rapidamente para
Portugal. De San Sebastián iriam até Burgos, depois Valladolid e
Salamanca, até chegarem a Vilar Formoso, a fronteira portuguesa
mais próxima.
– Amanhã dormimos em Salamanca – propôs Michael. – Mas
como a Seguridad espanhola colabora com a Gestapo, o coronel
Schlezinger vai saber onde estamos, não tenhamos ilusões.
– A nossa companhia é um risco – recordou Sara.
– Estamos todos em perigo... – confortou-a Katzenberg. – Mais
uma razão para irmos juntos até Portugal.
– É melhor ninguém abandonar o grupo – murmurou Carol.
– Porquê? – perguntou François.
A minha prima tivera um pequeno deslize.
– Diz-lhes – pediu Sara, pegando no gato ao colo, emocionada
com o seu constante miar.
Então, Carol contou que Schlezinger matara Mademoiselle
Laffitte na estação de Bayonne, com um tiro na nuca.
– Madre Mary, Mademoiselle, Rover... – gemeu. – Que mal fiz a
Deus para Ele me obrigar a ver tanto mal?
– A guerra é terrível – disse Michael, mas a partir dali as mortes
iam certamente parar. Hitler não ia invadir Espanha, pois era aliado
de Franco. E Portugal escolhera a neutralidade.
– Irão deixar-nos entrar? – questionou Edite, pois ouvira dizer
que Salazar também não gostava muito de judeus.
Os outros olharam-na, surpreendidos, pois nenhum deles sabia
que ela também era judia e por isso beneficiara das facilidades
dadas por Aristides de Sousa Mendes, que lhe passara um visto
mesmo sem Edite mostrar o bilhete para sair de Lisboa.
– A mim e ao Otto...
Katzenberg confirmou estar na mesma situação, tal como
Monika, que, ainda por cima, viajava com um passaporte falso.
– Vamos ver o que se consegue – tranquilizou-os Michael. –
Podemos partir amanhã?
Sara recordou a mensagem do pai: era suposto esperarem ali.
– O vosso paizinho é rico? – perguntou Edite, provocando
esgares incomodados em Michael e Katzenberg.
– Sim – respondeu Sara, enquanto pousava Chamberlain no
chão. – Mas ama a minha mãe, não alimentes fantasias.
A francesa encolheu os ombros.
– Os burros amarrados também pastam...
Michael esboçou um sorriso, que logo disfarçou com uma
questão sobre o paradeiro de Otto. Edite elucidou-o: o alemão
«acagaçara-se» em Bayonne, virara numa esquina e desaparecera.
– Não é que deixe grandes saudades, era um picha-mole... Mas
tem pavor dos nazis, não sei porquê – acrescentou.
– Ele não é judeu! – jurou Katzenberg.
A francesa confirmou que Otto era alemão, mas fizera-se passar
por judeu francês. Sem conseguir decifrar o enigma que aquele
misterioso homem representava, Michael reafirmou a necessidade
de partirem depressa.
Teimosa, Sara insistiu que o pai daria sinal de vida.
– Sempre deu.
– E se desta vez não enviar um recado? – perguntou François,
novamente irritado com a irmã. – Como sabes se passou a
fronteira?
– Até agora, tudo correu como ele planeou! – ripostou Sara.
– Onde está a vossa mãe? – quis saber Michael.
A filha de Marcel contou que os pais tinham ido buscar a avó a
Estrasburgo, mas esta não quisera deixar a sua casa, por isso a
mãe deles ficara a fazer-lhe companhia e só Marcel regressara a
Paris, no Citroën.
– Se calhar tinha uma amiga... – brincou Edite.
Sara olhou-a com ferocidade, mas permaneceu muda. Aquele
abandono da mãe por parte de Marcel custava-lhe a engolir.
– Nessa zona de França, as coisas não estão fáceis – revelou
Michael. – Os judeus estão a ser transferidos para a Alemanha.
– A minha mãe não é judia! – exclamou a amiga de Carol. – É
católica, tal como nós. A minha avó é que é judia.
Talvez fosse essa a explicação da decisão individual de Marcel,
sugeriu Michael. Sendo católica, a mãe deles teria mais facilidade
de viajar, podia vir mais tarde.
– Com a minha avó? – interrogou-o Sara.
O jornalista respirou fundo.
– Os alemães ainda deixam sair alguns judeus da Alemanha,
sobretudo os que pagarem bem.
– A não ser que sejam comunistas... – murmurou Katzenberg.
– O professor é comunista? – quis saber François.
– Os comunistas nunca têm dinheiro – comentou Edite, depois
de o músico negar a pertença a tal partido. – Mas não tratam mal as
mulheres como eu. Já os nazis prendem as putas, dão-lhes sovas
descomunais e deixam-lhes as costas a sangrar!
Surpreendida, a minha prima Carol confrontou-a. Dias antes, a
francesa confessara gostar de homens brutos. Irritada, esta última
explicou-se: – Palmadas no rabo e na tromba, ainda vá! Mas
bastões pelo cu a cima, como os nazis fazem? É horrível!
O vocabulário vernáculo dela provocou algumas gargalhadas,
mas a indignação que consumia Carol fê-la perguntar se fuzilar
soldados desarmados era um crime de guerra. O jornalista
confirmou com um aceno de cabeça, mas logo acrescentou que os
nazis não respeitavam ninguém.
– Matam sem hesitar!
Esta afirmação abriu um poço negro em Carol. De repente, a
minha prima estremeceu, revirou os olhos e os seus pés bateram no
chão, descontrolados. Por sorte, Monika já dormia ao colo de Edite,
sendo poupada àquela visão. A criança chorara depois da
passagem da ponte, quando vira Carol colapsar. E voltara a fazê-lo
na estrada para San Sebastián, aquando de um segundo achaque
da minha prima.
Mais uma vez, foi Sara quem a confortou, permanecendo deitada
ao lado dela a noite toda, enquanto Carol gemia por Rover, tal como
Chamberlain, que não parava o seu miar aflito.
26
Guernica, 26 de junho de 1940
Durante a primeira noite em San Sebastián, deitada no quarto da
Pensão Real ao lado de Sara, a minha prima teve um pesadelo que
jamais esqueceria. Já em Lisboa, descreveu-me um fluxo vívido e
contínuo de imagens, com abruptas mudanças de rumo, que se
iniciava com uma Sorbonne a ser desfiada lentamente por uma
mão, até surgir o chapéu de Mademoiselle Laffitte, de que esta
tentava fugir, de óculos e roupão escarlate, enquanto uma saraivada
de tiros era disparada contra uma camioneta, debaixo da qual um
homem quase calvo mergulhava na direção do baixo-ventre de
Carol, ao mesmo tempo que um enorme Mercedes negro acelerava
à porta da Residencial de Saint-Sulpice; junto à Hirondelle com os
pneus furados (como era possível, nunca tal acontecera!).
De súbito, e tudo era súbito no sonho, uma bomba explodia ao
longe e uma sirene guinchava, como a dos Stukas alemães, mas na
quinta dos avós dela, em Portugal, obrigando a mãe a aparecer à
porta do seu quarto, vestida de negro, a sorrir até levar um tiro no
coração.
De rompante, e tudo era de rompante no sonho, Carol era
transportada até aos barracões de Hendaia, enquanto Rover lhe
apertava o rabo, receoso de cair da bicicleta, ao mesmo tempo que
Katzenberg, agora a seu lado, a pedia em casamento e um pénis a
penetrava bem fundo (seria de Rover, não conseguia perceber!).
«Perpignan, Perpignan!», gritava então o coronel alemão, virado
para a janela da Residencial de Saint-Sulpice, onde Madre Mary
acendia um charuto com um isqueiro Zippo, como os dos soldados
americanos, enquanto Carol se deitava no banco comprido de um
bistrô, junto a Rover, que levantava a cabeça e dizia «boa noite»
antes de levar um tiro na nuca, obrigando Carol a olhar para o céu,
onde só via aviões rasando os carros, até o piloto a virar de costas,
subindo-lhe as saias para poder puxar-lhe as cuecas, e junto ao seu
ouvido Madame Félix, a porteira de Jean-Luc, lhe sussurrava «és
uma galdéria», ao mesmo tempo que Edite lhe sorria, convidativa,
mostrando umas mamas pequeninas que excitavam Rover, que a
abraçava outra vez e dizia «portuguesa e morena», antes de lhe
abrir as pernas e mergulhar para a lamber lá em baixo, deixando-a
quente, até uma enorme tristeza a invadir, já sabia que não o ia ver
quando olhasse outra vez para baixo, mas mesmo assim olhava e,
lá ao fundo, depois das suas pernas abertas, aparecia uma estrada
poeirenta, onde caminhava um barbudo, de sandálias e vestes
castanhas, a perguntar «Quo Vadis, domine?» antes de ascender
ao céu, enquanto vários ingleses caíam fuzilados pelos nazis, atrás
dos barracões de madeira, em Hendaia.
Nessa primeira noite, Carol acordara alagada em suor, como iria
acontecer diversas vezes nas semanas seguintes. A dor não lhe
passava e foi outra vez Sara quem a auxiliou, indo buscar uma
toalha molhada para lhe limpar a testa, a cara, os braços e o
pescoço.
– Não tens febre – disse a amiga –, mas estás a ferver.
Na madrugada seguinte, pouco antes de se levantarem para
deixar San Sebastián, seguindo uma nova e curta mensagem
deixada por Marcel na pensão, o sonho de Carol regressou, só que
mais curto. Após as visões da Sorbonne, do chapéu de
Mademoiselle Laffitte e da pistola, Rover falara com ela depois de a
beijar.
– Vocês conversaram? – entusiasmou-se Sara.
Para quem não conhecia aquela amizade, como Edite, que se
encontrava deitada à frente delas, a pergunta parecia um disparate,
mas não para as duas amigas. Sara sempre acreditara em mundos
sobrenaturais e reencarnações. Apesar do catolicismo da mãe e das
influências judaicas do pai, não se limitava a uma espiritualidade
tradicional, de missas, comunhões e orações, para a qual, aliás, não
tinha muita paciência, alimentando uma forte crença em visões
alternativas.
«Vive um fantasma cá em casa», dissera certa vez a Carol.
A princípio, a minha prima pensara tratar-se de uma brincadeira
de François, que, além de grosseiro, era ardiloso. Porém, dias
depois, pressentira a presença de um vulto no escuro.
«É alto e moreno», garantira Sara.
«Um terço dos homens de Paris corresponde a essa descrição»,
contestara Carol, embora receosa, pois tinha visto algo.
Durante o último ano, as amigas haviam-se habituado à
companhia daquela entidade incorpórea, cujo nome e intenções
desconheciam, mas que tinha um gosto especial por chávenas de
chá, pois estas mexiam-se em cima da mesa com frequência,
algumas chegando mesmo a partir-se ao caírem no chão.
«Estará zangado?», questionara uma tarde Carol, para espanto
de Mademoiselle Laffitte, que lhes perguntara de quem estavam a
falar, sem obter qualquer esclarecimento.
Portanto, a ideia de Rover ter conversado com Carol durante um
sonho era vista pela amiga não como uma anomalia mental de um
cérebro desgostoso, mas como uma possibilidade concreta.
– O que disse ele? – perguntou, curiosa e já a roer as unhas.
– Queria continuar a pedalar ao meu lado – contou Carol. – E
disse que a Gestapo nos vai ameaçar junto a uma cidade, que é
uma profecia.
A minha prima sabia que Rover era bom em previsões, por isso
não ficou nada espantada quando, horas mais tarde, o Mercedes
negro se atravessou na estrada à frente dos carros deles,
obrigando-os a suspenderem a marcha. Já conhecedor do sonho
premonitório de Carol, Michael decidira alterar o percurso e, em vez
de seguirem diretos para Burgos, tomaram a estrada costeira que os
levava a Bilbau, desviando depois para Guernica. De nada lhes
valeu: dois quilómetros antes de chegarem à cidade que fora
bombardeada pelos nazis durante a guerra civil espanhola, o
coronel Schlezinger aproximou-se do Citroën, enquanto a minha
prima sentia o ódio a consumi-la, pois fora ele quem mandara matar
o namorado.
– Saiam! – ordenou, apontando-lhes a Mauser.
Michael abriu a porta, mas o nazi, vendo que Sara se encontrava
no Oldsmobile, acercou-se deste.
– Onde está o seu pai? – perguntou.
– O senhor é espanhol? – interrogou-o Michael em alemão.
O coronel ficou surpreendido por ouvir falar a sua língua.
– Claro que não – esclareceu. – Procuro o pai desta rapariga –
declarou.
– Ela não sabe dele – afirmou Michael. – Mas nem precisa de
perguntar, vigiou-nos na pensão, em San Sebastián.
O alemão hesitou, mas depois insistiu: – Onde está Marcel?
– O pai mandou-os para Portugal – afirmou Michael, o que era
verdade, fora essa a mensagem recebida na pensão, num papel
entregue por um rapaz espanhol, em que os filhos reconheceram a
letra de Marcel.
– Esta pistola tem tiros que cheguem – lembrou o coronel.
– Não perca tempo com ameaças inúteis – avisou Michael. – O
que o pai deles fez, não sei. Mas os filhos não cometeram qualquer
crime e vou levá-los até Lisboa.
O tom seguro do jornalista irritou o coronel, que lhe apontou a
Luger P08.
– E quem é o senhor? Mostre-me o passaporte!
Calmo, Michael alegou que, apesar de o outro não ser uma
autoridade espanhola, mesmo assim ia mostrar os documentos.
Apresentou-se como um jornalista americano, que cobrira a guerra
no Norte de França e agora fora destacado para acompanhar a fuga
dos refugiados.
– New York Times? – interrogou o alemão.
– Philadelphia Times – declarou Michael.
– Nunca li – desdenhou Schlezinger. Depois, fixou Sara e Carol,
que estavam aliviadas por ele se ter afastado uns metros do
Oldsmobile. – Se me estiverem a mentir...
– Não estamos – garantiu Michael.
– Muito bem. Espero por vós na fronteira portuguesa – informou
o nazi, dirigindo-se ao Mercedes. – Boa viagem.
Após uma pausa para aliviar a tensão, o Citroën e o Oldsmobile
seguiram viagem pela mesma estrada que o Mercedes tomara.
Contudo, uns minutos depois, Michael obrigou a comitiva a parar à
entrada de uma cidade pequena onde os prédios estavam
esventrados e esburacados. Nas ruas só se via entulho e não havia
pessoas, nem se ouvia qualquer som.
– Guernica – informou o jornalista.
Todos saíram dos carros, espantados com tanto silêncio e tanta
destruição, enquanto Michael apelidava aquela povoação de cobaia.
Franco dera autorização aos nazis para bombardearem Guernica,
proporcionando a Hitler e a Göring um teste ao potencial das
bombas e dos aviões da Luftwaffe. O resultado estava à vista: uma
devastação total, uma cidade-fantasma donde os poucos
sobreviventes tinham fugido.
Desolado, Katzenberg abanou a cabeça.
– Já ouvira falar, mas só quando vemos é que acreditamos.
Ao lado dele, Edite murmurou, incrédula: – Isto é muito pior que
bastões pelo cu a cima...
Quando a minha prima Carol anunciou que aquela era a profecia
de que Rover falara, Michael inquietou-se: – Será este o futuro de
Londres?
27
Salamanca, 27 de junho de 1940
– Onde foi a primeira vez?
Carol soltou um suspiro saudoso, de mulher apaixonada.
– Em Orleães, depois da morte de Madre Mary.
Estava sentada na cama, com o choroso Chamberlain ao colo e
ao lado da amiga, no quarto da pensão de Salamanca onde haviam
chegado na véspera. A viagem desde Guernica fora lenta, porque
Katzenberg se recusava a ir a mais de setenta quilómetros por hora
e as estradas eram más. Depois de um almoço tardio em Burgos e
de um jantar em Valladolid, onde só conseguiram reabastecer os
depósitos pagando em francos, o cansaço geral era grande à
chegada a Salamanca, mas o atento François ainda vira o Mercedes
da Gestapo parado, à porta de um hotel.
– Sacana do Schlezinger – praguejara Michael.
– Porque não seguiu para Vilar Formoso? – perguntara o rapaz.
– Não sei... – respondera o jornalista.
– Em Bayonne, também não foram diretos à fronteira – recordara
a minha prima, já na pensão. O Mercedes passara por eles na
estrada, desaparecera umas horas e só reaparecera na estação,
onde os nazis tinham matado Mademoiselle Laffitte.
– Talvez não andem só à procura de Marcel... – arriscara
Katzenberg.
– Talvez... – repetira Michael, enigmático.
Antes de subirem aos quartos, o jornalista propusera um
descanso prolongado, pois a passagem da fronteira iria ser dura e
demorada. Por isso, naquela manhã as duas amigas deixaram-se
ficar na cama, enquanto Monika e Edite desciam para o pequeno-
almoço de mão dada e bem-dispostas, comunicando por gestos e
sorrisos, pois a primeira ignorava o francês e a segunda o alemão.
– Na primeira noite, ainda em Paris, Rover e eu dormimos num
bistrô – contou Carol. Nas duas seguintes, tinham pernoitado
debaixo de um camião e encostados a uma árvore. – Só na noite
após Madre Mary morrer é que dormimos juntos.
Sara olhou-a, curiosa.
– Cedeste porque estavas triste?
– Talvez – admitiu a minha prima.
Na literatura, o amor e a morte andavam sempre de braço dado.
Chorara muito, deitada na cama da pensão, mas Rover metera-se
debaixo do chuveiro e vira-o pela primeira vez de tronco nu. Depois
de se vestir, o piloto quisera jantar.
– Bebemos vinho.
Sara comentou que o pai proibira a mãe de beber sem ele por
perto e a minha prima lembrou que Madre Mary lhe dera conselhos
semelhantes.
– Mas quando voltámos à pensão, ainda me despi na casa de
banho, com vergonha – murmurou.
– E depois? – questionou a amiga, cheia de expectativa.
Sempre cavalheiro, Rover também retirara a roupa na casa de
banho e só depois se estendera na cama, ao lado da minha prima,
que o elogiara por a ter salvado das garras da Gestapo.
«Onde nasceste?», perguntara o piloto, para a distrair.
Carol resumira-lhe a biografia: viera à luz em Lisboa, tal como
ele era filha única, adorava a quinta dos avós, no Minho, tinha
saudades da mãe, gostava de estudar em Paris, sentia-se livre a
pedalar a Hirondelle e apaixonara-se por mexilhões.
«E namorados?», perguntara Rover.
«Estavas entusiasmado com a Edite», contrapusera logo Carol.
«E ela sempre a tentar-te!»
O piloto justificara-se: «Foram muitos meses sem mulher...»
A minha prima lembrara o ofício de Edite, ao que o inglês
ripostara que as prostitutas serviam para as emergências.
«Porque não foste com ela?», irritara-se Carol. «Até te
emprestava dinheiro!»
«Prefiro o teu rabo», dissera ele, apagando a luz. «Boa noite.»
Carol rira-se no escuro.
«Parvo.»
Uns segundos depois, fizera-lhe uma festa no rosto. De seguida,
beijara-o na cara e agradecera-lhe por tomar conta dela. Então,
Rover rodara a cabeça e beijara-a levemente na boca. Ela fizera
pressão com os lábios nos dele, até as línguas de ambos se
tocarem. O braço do piloto envolvera-a e os longos dedos dele
tinham-lhe tocado nas nádegas, apertando-as com força, tal como
em Paris, quando temera cair da Hirondelle.
«O teu rabo salvou-me a vida», brincara o inglês.
Então, ela descera pelo corpo dele abaixo e beijara-o, com a
boca em o. Rover retribuíra a cortesia, enquanto lhe tocava nos
mamilos à vez, com a única mão que tinha.
– Entrou dentro de ti? – entusiasmou-se Sara.
Carol recordou-se de que ele a colocara por cima.
– A Polly tem razão, é muito bom.
– Até eu estou com vontade! – gritou a amiga, muito corada,
deixando-se cair de costas na cama.
Contar tudo uma à outra era uma prática habitual delas, tinha
sido assim com Yves e Jean-Luc, bem como no caso dos vários
pretendentes de Sara. Só que Carol emocionou-se, pois falavam de
Rover como se estivesse vivo. Deixou cair uma lágrima.
– Desculpa, pensei que te fizesse bem – lamentou a filha de
Marcel.
– E faz! – garantiu a minha prima. Rover estava vivo no seu
coração, não queria esquecer-se da cara dele! Com um arrebite
inesperado, levantou-se e começou a arrumar as roupas no saco. –
O que foi? – perguntou, ao ver que a amiga, quase tão deprimida
como o gato cego, não se mexera.
– Nada – respondeu Sara, numa voz sumida.
As pessoas respondem sempre assim, dizem que não têm nada,
mas, durante as horas seguintes – só chegaram perto de Vilar
Formoso ao final da tarde –, a filha de Marcel permaneceu num
limbo mole e aluado. Edite topou-a e, quando a fila de carros parou
pela primeira vez, a uma dezena de quilómetros da fronteira, veio
até junto de Carol, que saíra do Oldsmobile.
– Se ela me pagar, posso fazer-lhe um serviço, também gosto de
mulheres – murmurou a francesa.
Preocupada, Carol voltou a perguntar à amiga o que tinha, mas
esta apenas bufou: – Estou mal-disposta.
A minha prima consolou-a.
– Isto tem sido muito difícil. O teu pai sem aparecer, a tua mãe
longe, a Mademoiselle morta.
– Não é isso! – enervou-se Sara. – Digo sempre que não preciso
de homem, mas é mentira.
Carol garantiu que um dia ia encontrar alguém que amasse, mas
a amiga suspirou, desconsolada, antes de fazer uma careta de
desdém, pois Michael vinha também a caminho do Oldsmobile,
cruzando-se com Edite. Dentro do carro, as amigas ouviram a
francesa gozar com o jornalista: – Vais ter de passar a mão na loira,
está de todo!
Michael olhou para Carol, como se lhe perguntasse como estava
a filha de Marcel, mas a minha prima ignorou-o, não era tempo de
esclarecimentos, nem ele seria a pessoa indicada.
Por sorte, nesse momento a fila arrancou, o que obrigou o
jornalista e Katzenberg a regressarem aos respetivos volantes. Os
automóveis avançaram de novo, em marcha muito lenta, só parando
em definitivo ao final da tarde.
A partir dali, mais nenhum carro passava, todo o asfalto estava
ocupado. Michael saiu do Citroën e aproximou-se, desta vez para
pedir emprestada a Hirondelle, pois queria ir à fronteira, mas a
minha prima recusou-se a deixá-lo sozinho e sentou-se na grelha,
como fizera com Rover. Pedalaram entre os carros até chegarem à
pequena aldeia espanhola de Fuentes de Oñoro.
– Estamos tramados – enervou-se Michael.
Depois do vilarejo, um caos de gente estendia-se dos dois lados
da estrada, sobre a erva. Havia pessoas deitadas no chão a dormir,
gente a comer e a beber, grupos à volta de fogueiras, até tendas
armadas. Mais à frente ainda, a confusão aumentava, uma multidão
compacta acotovelava-se, quase submergindo os veículos.
– O que se passa? – interrogou Carol.
Sempre expedito, Michael desmontou da Hirondelle e disse-lhe
que já voltava, mas só regressou meia hora depois, deveras
preocupado. Estavam mais de vinte mil pessoas a tentarem entrar
em Portugal e os guardas só deixavam passar quem tivesse bilhetes
para sair do país. Vira gente de diversas nacionalidades, muitos
apátridas e também numerosos judeus, a serem barrados.
– Nem daqui a três dias... – previu Carol.
– É pior do que isso – constatou Michael. – Diz-se que Portugal
vai encerrar a fronteira esta noite.
28
Hendaia, 28 de junho de 1940
Rover sentia-se um pouco melhor, mas as dores ainda eram
muitas, sobretudo na barriga, por baixo da costura que os médicos
tinham feito, depois de lhe extraírem a bala. E o seu estômago,
apesar de ter começado a funcionar ao segundo dia após a
operação, não era o mesmo. Enjoava depois de comer, sentia
vontade de vomitar e muitas vezes isso era inevitável, portanto
retinha pouco a comida e emagrecera.
Quatro dias depois de ter sido atingido, estava mais fraco, mas a
parte positiva era a ausência de qualquer infeção, a febre que os
médicos tinham previsto não surgira. A ferida sarava aos poucos,
ainda se via sangue nos pensos, que eram mudados todos os dias
logo pela manhã, mas não havia pus, nem sinal de que a
cicatrização não se estivesse a dar.
O médico que o seguia e com quem não podia conversar, pois
não sabia inglês nem ele francês, quando terminava a mudança dos
pensos levantava o polegar ao alto, para lhe dar a entender que
tudo corria bem. Depois, ia tratar de outros feridos, que eram pelo
menos dez naquela enfermaria e nenhum deles soldado, mas sim
pessoas comuns, idosos e homens e mulheres, vítimas de doenças
ou infeções, que tinham sofrido acidentes de trabalho ou na vida
doméstica.
Uma das mulheres e um idoso, nas camas em frente dele,
pareciam em estado mais grave. No segundo dia, a mulher foi
retirada da enfermaria numa maca, tendo Rover assumido que
morrera, pois não regressara. No dia seguinte, a sua cama foi
ocupada por outro idoso que se queixava muito, mas que tinha
apenas uma perna partida.
O segundo doente em mau estado quase não falava e nunca
gritava, mas agitava-se muito. Logo que o viam movimentar-se, as
enfermeiras apareciam a correr, para evitar qualquer coisa que
Rover não sabia o que era, nunca percebeu qual a mazela que o
afetava. Durante a terceira noite, o idoso faleceu sem alarido e foi
retirado dali, provocando alguma comoção e o choro de uma
enfermeira. Pela forma como ela sentiu a morte, devia ser alguém
que conhecia, talvez um familiar.
O resto dos dias de Rover era longo, cheio de dores e apenas
animado pela aparição daquelas boas almas, que o ajudavam a
fazer as necessidades, colocando uma bacia debaixo dele ou um
tubo para urinar. Embora prestáveis, não falavam inglês e, a partir
do segundo dia, também comunicavam por gestos.
O piloto tinha sempre muitas saudades de Carol, mas à noite era
pior. Apesar dos remédios que tomava para as dores, acordava
sempre que se mexia na cama para mudar de posição, sendo-lhe
difícil voltar a cair no sono. Ficava a mirar o teto da enfermaria, a
porta, as janelas ou os colegas de infortúnio e, embora os seus
olhos os vissem, não era neles que pensava, mas sim na minha
prima, por quem se apaixonara.
Recordava-se de todos os minutos que tinham passado juntos,
reconhecendo o quanto ela o transformara, fazendo-o esquecer as
intenções suicidas. Em Paris, no hospital onde Polly o deixara, a
decisão de matar-se estava tomada, não fosse Carol ter aparecido
pela segunda vez.
Durante a evacuação noturna, algumas enfermeiras e um
médico tinham passado pelo quarto dele, para o tentarem convencer
a dirigir-se a um dos camiões ou camionetas, que aguardavam à
porta do hospital. Como ele não se levantara, acabaram por
esquecê-lo, pois a dado momento entraram em pânico e a confusão
propagara-se. Rover escutou gritos, durante horas, até a madrugada
chegar e um silêncio pesado se instalar.
Demorara algumas horas a tomar coragem, examinando a
pistola enquanto ouvia a ladainha incompreensível que a mulher do
quarto ao lado repetia. Na verdade, essa espera era apenas a força
de uma dúvida: seria capaz de se matar? O argumento
determinante era a vontade de não ser preso pelos nazis. Tudo
menos isso, preferia dar um tiro no céu da boca. E tê-lo-ia feito, não
fosse Carol haver mudado a sua vida para sempre.
Rover não era religioso, mas ainda se espantava com aquele
milagre, pois fora isso mesmo que acontecera, um milagre. O seu
coração, a sua cabeça, o seu corpo, tudo reagira perante a
presença daquela rapariga. Na véspera, ela já o impressionara, mas
nunca esperara o seu regresso, sobretudo depois da evacuação.
Contudo, Carol viera e revelara um poder especial para o reanimar,
pela forma como lhe dera atenção e o procurara demover daquele
ato dramático.
Fora certamente a vontade de Deus que a conduzira até ao
hospital. Desde o primeiro instante que escutara a sua voz, à
entrada do quarto, Rover soube que não teria coragem de puxar o
gatilho. A mera reaparição dela tornou o seu suicídio uma intenção
absurda e impossível de concretizar. A vida dele não podia terminar
à frente daquela rapariga.
O resto veio depois, a generosidade que revelou, ao lembrar-se
de lhe trazer os Gauloises; a admiração explícita pelo tratamento
que dera a Chamberlain; a forma altruísta como o ajudou a cortar a
carne; a firmeza com que lhe destinou a grelha da Hirondelle. Rover
sorriu, ela adorava aquela bicicleta. «Sinto-me a voar», dissera
Carol, abrindo um sorriso, uma recordação que o fez suspirar. Ela
fora feliz e Rover também, como nunca antes na vida. E a bicicleta
tinha a sua quota-parte de responsabilidade, fora por causa dela
que lhe tocara no rabo a primeira vez, para não cair para trás e sem
saber que estava a mudar o seu futuro.
A companhia que haviam feito um ao outro, o tiroteio com a
Gestapo, a terrível provação por que Carol tinha passado com a
morte de Madre Mary, tudo se encaixara num sentido inevitável,
mas Rover guardara sempre a sensação de que, não fosse aquele
momento de desequilíbrio na Hirondelle, o brusco agarrar do rabo
dela, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Aquilo ligou-os de
uma forma física, até um pouco dolorosa, mas ao mesmo tempo
excitante. Depois, a vida fluiu, como se fosse impossível ser de
outra forma.
Rover nunca amara ninguém. Tivera alguns encontros com
mulheres, mas nada restava depois, nenhuma saudade ou vontade
de repetir. Não mostrara sequer interesse, sobretudo depois de
entrar para a RAF, o que mais gostava era de pilotar aviões. Voar
era, definitivamente, o verbo deles. Carol, na Hirondelle, ele, no
Spitfire, mas infelizmente agora estavam separados, como se dois
foguetões descoordenados os tivessem enviado para galáxias
opostas.
Não sabia o que lhe acontecera, mas imaginava que já chegara
a Portugal. Teria atravessado Espanha de bicicleta? Era pouco
provável, sem companheiro. O mais certo era ter viajado no Citroën
com Sara, levando a Hirondelle na mala.
Apoquentava-o não lhe poder dizer que continuava vivo. Carol
não vira o que se passara atrás dos barracões, mas devia ter ouvido
os tiros e concluído que fora fuzilado. Estava certamente a sofrer e
Rover tinha de lhe fazer chegar a notícia. Contudo, não sabia a
morada dela em Lisboa. Para onde enviar um telegrama? Se as
freiras não tivessem fugido da Residencial de Saint-Sulpice, em
Paris, ter-lhes-ia pedido que o reenviassem para Lisboa, mas assim
nada feito.
Mexeu-se e deu por si a pensar que algo não estava bem no seu
corpo. Não notara qualquer ereção matinal desde a operação e,
quando pensava em Carol e nos momentos que tinham vivido
juntos, o cérebro agitava-se, mas o corpo não reagia. Sentia-se
como uma vez, numa praia da Cornualha, quando os seus órgãos
sexuais haviam diminuído de tamanho, encolhidos pela temperatura
baixa da água. Contudo, talvez fosse apenas o efeito da operação
ou da maldita bala. Os músculos da barriga tinham sido rasgados,
demoravam a recompor-se, era preciso paciência com os mistérios
do corpo.
Respirou fundo e devagar, para não lhe doer, desejando não ter
outro membro defeituoso, já lhe chegava a falta da mão direita. E
era nisso que estava a pensar quando ouviu uma voz que
reconheceu, firme e confiante, a tagarelar em inglês. Mesmo não
sendo uma pessoa que estimasse muito, sabê-la ali foi um tónico
revigorante. Quando Polly entrou na enfermaria, com duas
enfermeiras atrás, já estava a sorrir, contente por alguém o ir ajudar
a dar a novidade a Carol.
– Rover! – gritou a americana ruiva, correndo até à sua cama. –
Eu soube o que se passou e vim logo de Pau, na minha ambulância!
Polly no seu melhor, concluiu Rover.
– É bom ver-te!
A americana debruçou-se e abraçou-o, mas foi de tal forma
impetuosa que lhe provocou dores.
– Desculpa, mas estou tão contente de te ver! – exclamou,
apertando-o outra vez.
Rover descreveu-lhe os acontecimentos de Hendaia que o
haviam levado àquela cama, o tiro e a operação ao abdómen.
– A Carol deixou-te? – zangou-se a americana, abanando a
cabeça em desaprovação, mesmo depois de Rover lhe ter dito que
a minha prima não pudera ficar com ele. – Eu nunca o faria! Mas
pronto, agora estou aqui e vou tratar de ti.
Sem aviso, Polly puxou o lençol que o cobria e examinou a
ferida, levantando-lhe a camisa de dormir e a fralda que lhe tapava
os órgãos sexuais. Rover engoliu em seco, aquilo era
constrangedor. Em Paris, ela por várias vezes lhe fizera festas nos
braços e no peito, mas ali pousou mesmo as mãos nas suas pernas
nuas. Por momentos, o piloto ainda pensou em dizer-lhe que nada
se erguia depois do ferimento, mas não o fez.
– Vou tratar de ti, estás mesmo a precisar de mim – rematou
Polly, passando-lhe a mão direita pelo interior da coxa, perto da
virilha.
29
Fuentes de Oñoro, 28 de junho de 1940
– As previsões do Rover eram melhores – provocou Carol.
Ao contrário do que Michael dissera, a fronteira não fechara
nessa noite. O avanço fora lento, mas o Citroën e o Oldsmobile
haviam percorrido quase dois quilómetros, aproximando-se de
Fuentes de Oñoro. Contudo, de manhã tinham chegado dois
comboios com centenas de passageiros, que foram impedidos de
entrar em Portugal por não terem a documentação em ordem, o que
engrossou a massa de gente à espera.
Os vistos dados pelo cônsul Aristides de Sousa Mendes em
Bordéus e Bayonne estavam a ser recusados, informou Michael,
que nessa manhã fora de novo à fronteira, na Hirondelle e com
Carol.
– Deus esteja connosco... – murmurou Katzenberg.
– E vamos para onde? Não podemos ficar em Espanha –
indignou-se Sara. – Só temos visto de passagem!
O jornalista considerou impensável permanecer ali tanta gente, à
volta de fogueiras e tendas, como se fossem ciganos. O Governo
português teria de rever a situação, as pessoas não paravam de
chegar. Em Hendaia, a fronteira reabrira e os nazis estavam a deixar
sair mais gente para Espanha.
– Todos virão aqui parar.
Desapontado, Katzenberg tentou apaziguar o irritadiço François,
enquanto Michael ia partilhar as notícias com os ocupantes dos
carros vizinhos e Monika afagava Chamberlain, que continuava
triste.
– Gato sortudo, não precisas de visto – ironizou Edite, antes de
sacudir a saia. – Tenho de me lavar, sinto-me porca.
Eram apenas onze horas da manhã, mas já estava muito calor.
– Há ali um ribeiro, vi gente a ir lá – disse Sara.
Pediram a Katzenberg que ficasse de olho em Monika e
caminharam as três pelo campo, na direção do curso de água, onde
viram pessoas a banhar-se, mas Carol não quis refrescar-se à frente
de desconhecidos e afastaram-se até um local deserto. As três
despiram as camisas e lavaram o pescoço, a cara, as axilas, o peito,
as costas e o cabelo.
De súbito, Edite retirou as saias e as cuecas e sentou-se na
água, gozando com as outras.
– Não lavam as vergonhas? Que pudicas!
Carol ignorou-a, mais uma vez espantada com a perfeição do
corpo de Sara. A filha de Marcel tinha uma cintura mais fina do que
a dela, apesar de ser um pouco mais alta. Os seus seios redondos e
cheios eram pintalgados por dezenas de sardas e no centro
apresentavam dois discos largos e cor-de-rosa escuro, onde os
mamilos sobressaíam, já endurecidos, devido ao contacto com a
água fria.
– És mesmo bonita – apreciou a minha prima, sentindo
imediatamente uma chicotada de ciúme, pois Rover dissera o
mesmo no Café Tortoni, em Bordéus, a primeira vez que vira Sara.
Sempre divertida, Edite gritou, enquanto se vestia: – Com umas
mamas dessas, fazias uma fortuna nos night-clubs de Paris!
– Não te queixes – retorquiu-lhe a visada, sem sequer a olhar.
– As minhas são pequenitas e fiz bem em não dar de mamar!
Aqui só mama quem paga! – declarou a francesa, apertando os
seios por baixo, para os empinar, enquanto dizia: – O que me vale é
o...
Carol e a amiga nunca perceberam a quem se referia, pois
nesse momento viram na margem do riacho o coronel Schlezinger,
acompanhado por um dos ajudantes e um terceiro homem, mais
baixo, mas também musculado. Calados, os três observavam-nas a
tomar banho e, numa reação instintiva, Carol levou os braços ao
peito, mas as outras duas mulheres não se taparam, como se lhes
fosse indiferente os homens verem-nas nuas.
– Deseja alguma coisa? – questionou Edite, de olhar provocante.
Topara que o terceiro homem se fixara nela e dirigira-lhe aquele
subtil convite. Porém, o indivíduo não devia saber francês e
manteve-se mudo, limitando-se a apreciá-la com vagar e gosto.
Um fascínio idêntico era visível no coronel Schlezinger, mas o
seu alvo era a filha de Marcel. O alemão paralisara, esmagado pelo
encanto tremendo que emanava daquela jovem mulher.
– Tapa-te! – ordenou Carol.
Surpreendida, a minha prima percebeu que a amiga estava
perfeitamente consciente do efeito causado. Com um sangue-frio
notável, Sara deu três passos em frente, aproximando-se de
Schlezinger sem pudor e de olhos fixos nos dele, como uma
serpente que já hipnotizou a presa e a vai atacar.
– Posso ajudá-lo? – perguntou em alemão.
O nazi paralisara e só os olhos se descontrolavam, subindo e
descendo, entre as mamas e a cara. Divertido, o terceiro homem
tossiu, obrigando o atrapalhado coronel a recompor-se num
segundo, após o qual balbuciou: – A polícia portuguesa quer falar
consigo.
– Em Portugal? – perguntou Sara.
Confundida com o à-vontade da amiga, Carol vestiu à pressa a
camisa, de costas para os homens, enquanto o coronel Schlezinger
fazia sinal ao português, que deu uns passos na direção delas e se
apresentou, em alemão. O tenente Marrano pertencia à PVDE, a
Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, de Portugal, mas disse
que podiam falar ali mesmo.
Sempre a mirá-lo, Edite perguntou a Carol quem ele era e ainda
a explicação desta não terminara já ela abanava os pequenos seios,
contente por ver uma autoridade portuguesa.
– Se ele quiser, ponho-me já de gatas... – murmurou, sorrindo ao
tenente.
– O que disse ela? – perguntou este a Carol.
A minha prima encolheu os ombros.
– Tolices de mulheres.
O tenente Marrano destinou-lhe um sorriso frio.
– Eu é que decido o que são tolices.
– Tu não me trames... – rezingou Edite em francês, julgando que
Carol a apoucava, enquanto a minha prima explicava ao tenente
que a francesa era muito dada.
– Ainda querem falar comigo? – intrometeu-se Sara, enervada
por não ser o centro das atenções.
O tenente da PVDE regressou ao alemão, língua que dominava
o suficiente para ser entendido.
– Portugal e a Alemanha são países amigos e as suas polícias
colaboram.
Carol torceu-se em desconforto: há anos que o sabia, a PVDE
nutria fortes simpatias pelos alemães e também pelos fascistas
italianos, que Salazar admirava.
– O coronel Schlezinger informou-me de que o seu pai anda
fugido. Ora, um homem assim não é bem-vindo ao meu país – disse
Marrano a Sara. – Nem a família, a não ser que nos ajude a
encontrá-lo.
A ameaça era claríssima, os filhos de Marcel não entrariam em
Portugal a menos que entregassem o progenitor.
– Só quero conversar com o seu pai – reforçou Schlezinger,
procurando ser simpático. – E, acredite, não desejo provocar um
desgosto a uma rapariga tão bonita!
Sara olhou-o, impávida, e ripostou: – Não vejo o meu pai desde
que ele saiu de Paris, há quase um mês. Não sei onde está. Como
já lhe foi dito, ele ordenou que viéssemos para Portugal.
O coronel manteve-se em silêncio, admirando-a, enfeitiçado.
Depois, sorriu, fez uma pequena vénia, deu meia-volta e afastou-se,
com o ajudante e o português à ilharga, este a cruzar de novo o
olhar com Edite.
– Vou ter com ele, ai vou, vou! – jurou a francesa.
De volta aos carros, as três revelaram a Michael a ameaça da
PVDE, mas o jornalista não se surpreendeu, pelo contrário,
informou-as de que a fronteira fechara mesmo.
Carol protestou, desapontada.
– Não posso entrar no meu país?
Michael esclareceu-a:
– Tu, sim, nós é que não. – Americanos ou alemães, franceses
ou polacos, judeus ou apátridas, Salazar não queria mais refugiados
de guerra. – Fica tudo à porta!
Desanimado, o grupo dispersou outra vez e as duas amigas
sentaram-se no banco traseiro do Oldsmobile, junto a Monika e ao
cada vez mais apático Chamberlain.
Sara admirou a Hirondelle, encostada ao carro.
– Carol, devias ir sozinha, talvez nos ajudes mais em Portugal.
Sentado no lugar do condutor, o bondoso Katzenberg foi da
mesma opinião, mas a minha prima recusou-se a deixar os amigos.
Depois do que vira junto ao riacho, receava que Sara cometesse
uma tontaria. O coronel Schlezinger podia ser bonito, mas tinha
matado Mademoiselle Laffitte com um tiro na nuca.
Algum tempo depois, François aproximou-se do Oldsmobile e
resmungou: – A prostituta foi-se embora.
Carol suspirou.
– Não tem emenda. Foi à procura do tenente Marrano e vai
safar-se sozinha.
30
Fuentes de Oñoro, 28 de junho de 1940
Ao final da tarde, Carol acordou, alagada em suor e cheia de
sede, no banco de trás do Oldsmobile. O pesadelo regressara,
contou-me ela já em Lisboa.
– Mas, Jack, nesse dia e nesse sonho o corpo de Mademoiselle
Laffitte não estava na gare da estação!
– Então? – perguntei.
– Não sei..., à noite, Rover foi buscar o chapéu dela. Talvez uma
hora depois de Schlezinger a matar. Mas, na manhã seguinte,
quando saímos dali, não me lembro de olhar para a estação.
A minha prima dissera o mesmo a Sara, ainda dentro do
Oldsmobile, confundida com aquele bizarro pormenor.
– Talvez a polícia francesa tenha ido levantar o corpo – sugerira
a amiga. – Talvez estivessem distraídos...
O seu sorriso matreiro fez Carol corar. Sim, era verdade, tal
como após a morte de Madre Mary, o arrebatamento dela e de
Rover fora muito forte nessa noite, no armazém de Bayonne. O
assassínio de Mademoiselle Laffitte tinha-os lançado numa
necessidade totalitária e primitiva de sexo.
– Amor e morte – constatou Sara, mas de repente enrugou a
testa, invadida por um pensamento quase herético. E se tudo não
tivesse passado de um sonho mau? Perturbada com a perda de
Rover, a minha prima delirara, convencendo-se de ter visto
Mademoiselle Laffitte a ser morta!
Carol indignou-se.
– Por favor! Eu vi-a levar um tiro na nuca! – enervada, saiu do
carro e foi à mala do Citroën, donde retirou a caixa de papelão da
governanta. – E isto? – perguntou, com o chapéu da Mademoiselle
na mão. Rover fora buscá-lo à estação, queria que ela se
disfarçasse para passar a fronteira!
Sara, que sempre acreditara em fantasmas, não tinha uma
explicação plausível: – Tu é que disseste que, no sonho, o corpo
não estava lá de manhã...
Intranquilas, as duas decidiram juntar-se a François, a
Katzenberg, a Monika e a Michael, à volta de uma fogueira que
ardia no campo, a trinta metros dos dois carros. Uma família búlgara
numerosa, um casal com sete filhos, quatro raparigas e três
rapazes, com idades entre os catorze e os quatro anos, oferecia
sopa com carne e pão, cozinhada numa grande panela. Homens,
mulheres, crianças e idosos, comiam em pequenas malgas,
distribuídas por uma senhora chamada Gertrúd, pequena mas de
braços fortes e habituados a muito labor, que deixava a prole à
solta, agradada por ver a filharada feliz, mesmo em circunstâncias
tão difíceis.
Dez metros à direita dela, junto a uma segunda fogueira, o
marido, Viktor, também pequeno e maciço, com uma barba curta e
bochechas avermelhadas pelas chamas, mexia lentamente com
uma colher um líquido esbranquiçado, dentro de uma panela.
– É iogurte – explicou-lhes Michael.
– Iogurte? – surpreendeu-se Sara.
– O Viktor garante que amanhã estará pronto – disse o jornalista.
Os búlgaros eram animados, o filho mais velho tocava viola e a
mãe um tamborete, aos quais se juntou o banjo de um polaco,
formando uma reduzida orquestra, cujo maestro improvisado foi o
professor Katzenberg. Com um pequeno pau a fingir de batuta,
dirigiu o coro, sugerindo as músicas e revelando um vastíssimo
repertório em várias línguas, que espantou os colegas de viagem.
Após uma melodia original do Tirol, cantaram uma francesa,
saltaram até à Polónia, depois foram a Itália e à Rússia, finalizando,
a propósito, com uma espanholada.
Duas horas depois, quando as duas amigas regressaram ao
Oldsmobile, o músico continuava animadíssimo.
– Talvez finalmente arranje uma noiva – comentou Sara,
aninhando-se no banco da frente.
Carol não respondeu, com temor de adormecer e reviver o
pesadelo. Ficou numa bruma, meio acordada meio a dormir, até
alguém se aproximar da janela, deixada aberta para o carro arejar.
Era Michael, que lhe fez sinal para o acompanhar.
Os dois caminharam pela estrada até Fuentes de Oñoro. No
vilarejo, havia gente sentada nas soleiras das portas e Carol não
percebeu se eram habitantes ou refugiados. Muitos dormitavam,
mas alguns apenas conversavam em voz baixa ou fumavam,
indiferentes à passagem de outras pessoas.
– Onde vamos? – perguntou ela pela terceira vez.
– Não tenhas medo – disse Michael.
Nos limites da aldeia, entraram num casebre abandonado e
escuro, dentro do qual se encontravam três homens.
– Buenas noches, Pablo – saudou Michael.
– Buenas noches, señor – respondeu o vulto mais perto deles.
O jornalista acendeu um fósforo e um segundo indivíduo
avançou, até que a cara dele se iluminou e a minha prima se
alvoroçou, ao mesmo tempo espantada e contente.
– Marcel!
O pai de Sara e François estava ainda mais magro do que em
Paris, mas ali parecia mais seguro e otimista.
– Carol, estamos quase lá. Vi os meus filhos hoje, junto aos
carros! – no meio de tanta gente, fora-lhe fácil aproximar-se. – Já sei
que a Gestapo os vigia e que a PVDE falou com vocês! – exclamou,
preocupado.
Sempre bem informado, Michael revelou que, no dia seguinte,
chegaria a Vilar Formoso o chefe máximo da PVDE, vindo de Lisboa
de propósito para implementar uma solução, pois Salazar não podia
mandar as pessoas para trás, nem a Espanha as recebia.
– Amanhã ou depois, estarão em Portugal! – exultou Marcel.
– E vamos para Lisboa? – perguntou Carol.
– Vou instalar os meus filhos num hotel – garantiu o pai de Sara.
Porém, quando a minha prima lhe perguntou se ia juntar-se a eles,
Marcel hesitou, lembrando que a Gestapo o perseguia.
– Porquê? – interrogou Carol. – A Sara não sabe.
– Não é o momento de explicar – respondeu ele.
Os filhos deviam ir já para Lisboa e teria ainda de trazer Anne e
a mãe dele de Estrasburgo, era muito perigoso ficarem lá. Com a
ajuda do contrabandista Pablo, passaria a fronteira a cavalo,
entrando em Portugal sem que a guarda o visse. Depois,
aguardaria, em Vilar Formoso, pelos filhos.
Michael assobiou, discordando.
– A Gestapo vai estar lá.
O pai de Sara pareceu contrariado, mas acabou por aceitar
manter-se escondido e enviar nova mensagem, enquanto Michael
explicava que as autoridades portuguesas iam dividir os refugiados
por nacionalidades e enviariam cada grupo para um local diferente.
A PVDE só deixaria seguir para Lisboa quem já tivesse os bilhetes
de barco ou avião para deixar Portugal. Os restantes ficariam sob
vigilância, mas fora da capital.
– Então a Sara e o François podem ir já! – alegrou-se Marcel.
O jornalista contrariou-o. Os vistos dados por Aristides de Sousa
Mendes tinham sido cancelados. Os filhos de Marcel seriam
enviados para um local a definir pelas autoridades, até terem novos
vistos.
– Como sabes isso tudo? – perguntou Carol.
Michael encolheu os ombros.
– Fiz perguntas.
Apesar de incomodado com os contratempos, Marcel não
desanimou: – Seja como for, andarei por perto. Tomem conta dos
meus filhos. E Carol, tem paciência para as tolices do François!
A minha prima não revelou que a sua maior preocupação era
agora Sara, demasiado ousada nessa tarde. Mas não ia denunciá-la
ao pai, a quem desejou boa sorte.
– Obrigado – respondeu Marcel, seguindo Pablo para a rua.
Nesse momento, o terceiro homem, que se mantivera sentado
num canto escuro durante a conversa, levantou-se também, e uma
espantada Carol reconheceu Otto, o alemão que desaparecera em
Bayonne sem explicação.
– Não me viste – murmurou ele. – E cuidado com a Edite.
Desconfiada, Carol perguntou qual a razão de aqueles dois
estarem juntos, e Michael disse que Marcel e Otto tinham um
interesse comum, passar as fronteiras sem que a Gestapo os
apanhasse. Podiam já ter atravessado os Pirenéus juntos, ou até a
Espanha inteira, mas era igualmente possível que o encontro se
tivesse dado apenas em Fuentes de Oñoro. Tal como em Hendaia,
naquela fronteira eram habituais os contrabandistas como Pablo,
que aceitavam dinheiro para ajudar as pessoas a passarem a salto.
Marcel e Otto não eram certamente os únicos a fugir dessa forma.
– O importante é não serem apanhados pela Gestapo – rematou
o jornalista.
A minha prima olhou-o de soslaio, pois pressentiu que o amigo
de Polly não lhe contava tudo o que sabia. Com o andar dos dias,
Michael transformara-se num mistério ambulante e parecia estar
sempre um passo à frente de toda a gente.
31
Fuentes de Oñoro, 29 de junho de 1940
No caminho de volta aos carros, Carol sentiu saudades de
Rover, da honestidade e da segurança que lhe transmitia. Michael
era bem mais volátil: engendrava estratagemas, possuía informação
secreta cujas fontes não revelava, dava a sensação de dominar o
mundo que existia para além deles. Aliás, a desconfiança dela
agravou-se com o pedido para não revelar a Sara e a François o
encontro com o pai deles.
– Porquê? – espantou-se a minha prima.
– Vão ser chamados à PVDE amanhã. O Schlezinger pediu ao
Marrano que apertasse com os filhos de Marcel.
Depois de acender mais um cigarro, Michael confessou ter
assistido à tensa cena matinal no riacho. Vira os olhares que Edite
trocara com Marrano e que Sara lançara ao coronel.
Incomodada, Carol perguntou-lhe: – Viste-nos nuas?
O jornalista ignorou a pergunta e devolveu a indignação: – A
Sara acha que salva o pai só por abanar as mamas?
Carol mordeu o lábio superior. Michael tinha razão, o belo peito
da amiga não ia conter a Gestapo, por isso nada disse aos filhos de
Marcel, uma decisão sábia, pois na tarde seguinte o tenente
Marrano veio buscar Sara e François num Fiat, que atravessou a
multidão acampada aproveitando um caminho junto à berma
esquerda, aberto pela polícia espanhola.
– Você também – ordenou o português a Carol. – Como
tradutora.
Michael fez-lhe um discreto sinal de aprovação, enquanto um
entusiasmado François perguntava: – Ele vai prender-nos?
Naquela cabeça imatura, ser detido era heróico e o rapaz entrou,
animado, no carro da PVDE, onde a minha prima perguntou por
Edite e o tenente Marrano fingiu desconhecer o paradeiro da
francesa.
– Não está com vocês?
– Desapareceu, ontem à noite – declarou Carol.
Marrano encolheu os ombros: – Mulheres como ela, já se sabe...
Quinze minutos depois, abriu-se uma cancela na fronteira,
deixando passar o Fiat, que estacionou junto à Alfândega
portuguesa, onde havia grande agitação. Polícias e guardas
fronteiriços conversavam em tom exaltado, cá fora e nos corredores.
Com a passagem entre os dois países fechada, não tinham de
examinar ninguém, mas também não podiam desmobilizar. Via-se
pela cara que estavam enervados, fosse pela imobilidade forçada,
ou pela grandeza da empreitada que tinham pela frente.
Na pequena sala para onde os levaram, um homem encontrava-
se sentado à secretária, a examinar documentos. Fardado e de
bigode, apresentava um cabelo liso, penteado a rigor, uma cara
larga e de tom escuro, mas uma testa inesperadamente clara,
devido ao excessivo uso do boné militar.
A seu lado, o odioso coronel Schlezinger aprumara-se
igualmente, de fato limpo e banho tomado. Ambos se levantaram à
entrada das duas mulheres, mas não lhes estenderam as mãos,
enquanto o português se apresentava como capitão Agostinho
Lourenço, diretor da PVDE.
– Sentem-se – ordenou.
Como existiam apenas duas cadeiras à frente da secretária,
François foi obrigado a ficar de pé atrás da irmã, enquanto Marrano
se dirigiu para a direita do seu superior hierárquico, que, em breves
palavras, resumiu a situação: o pai de Sara e François era suspeito
da prática de crimes graves contra o Terceiro Reich, sendo por isso
procurado pela Gestapo, uma entidade ali representada pelo coronel
Schlezinger, que tentara encontrar o referido «senhor Marcel»,
primeiro em Paris e depois durante a fuga deste até à fronteira de
Espanha com Portugal, alegadamente passada a salto, o que era
«um crime grave».
Cada frase de Agostinho Lourenço era traduzida para francês
por Carol e no final, depois de relembrar as excelentes relações
entre a Gestapo e a PVDE, o diretor desta última exigiu aos filhos do
«senhor Marcel» esclarecimentos sobre a localização do progenitor.
– Porque perguntam isso? Já sabem a resposta! – indignou-se
Sara, de olhos cravados em Schlezinger.
Atrás dela, François apertou as costas da cadeira com as mãos
e assim continuou durante as perguntas seguintes, cujas respostas
foram as esperadas. Sara garantiu que eles apenas cumpriam as
ordens do pai, viajando até Portugal para fugirem à guerra.
– O senhor Marcel é comunista? – disparou Agostinho Lourenço.
Carol franziu a testa, como se a questão fosse disparatada. Mas
traduziu-a, provocando uma gargalhada cínica na amiga.
– Que bizarro! O meu pai é um industrial com várias fábricas.
Tem uma mansão em Paris, carros bons e imenso dinheiro no
banco! E a minha mãe é católica, vai à missa ao domingo!
Ao escutar a tradução desta última frase, Agostinho Lourenço
pareceu surpreendido e murmurou: – Mas o senhor Marcel é judeu...
Sara confirmou-o, adiantando, porém, que eles haviam sido
educados em colégios católicos. Empertigando as costas,
perguntou: – De que acusam o meu pai?
Agostinho Lourenço virou-se para o coronel Schlezinger, como
se lhe passasse a bola. O alemão, que continuava fascinado com a
rapariga linda sentada à sua frente, demorou uns segundos a reagir.
Marcel era cúmplice de um criminoso. Se colaborasse com a
Gestapo, poderia esclarecer tudo, mas persistia em fugir.
– Como sempre fazem os culpados!
– O meu pai foi a Estrasburgo com a minha mãe, foram buscar a
minha avó! – insistiu Sara.
– Mas voltou sem nenhuma delas – relembrou Schlezinger. – Na
companhia de um homem muito perigoso.
– A quem se refere ? – perguntou Sara, genuinamente
surpreendida.
– Otto Strasser – explicou o alemão. – Um traidor à pátria.
Carol suspeitou de imediato a quem ele se referira e por isso não
reagiu. Porém, François franziu a testa e a irmã ergueu as
sobrancelhas, dois ligeiros nervosismos que não passaram
despercebidos àqueles experientes interrogadores.
– Conhecem esse homem? – interrogou o capitão Lourenço.
Honesta, a filha de Marcel revelou que um indivíduo chamado
Otto guiara o Oldsmobile até desaparecer em Bayonne. Ela e
François nunca tinham falado com ele, mas fora esse homem que
trouxera Edite. Olhou para o tenente Marrano e acrescentou: – A
prostituta francesa que foi ter consigo, ontem à noite.
O polícia português semicerrou os olhos, furibundo pela
denúncia que o expunha à frente do chefe. Mas aguentou a
estocada.
– Não falei com nenhuma Edite ontem à noite. Está a referir-se à
mulher que estava convosco no ribeiro?
Agostinho Lourenço, após escutar o sim de Sara, deu uma
ordem em português ao seu subordinado.
– Encontre a francesa, talvez ela saiba se esse Otto é o tal
Strasser!
O tenente Marrano preparou-se para sair, mas o diretor da PVDE
fez-lhe um gesto subtil, para que ficasse, após o coronel Schlezinger
pedir aos filhos de Marcel e a Carol que descrevessem fisicamente
o alemão que guiara o Oldsmobile.
– É Strasser! – exclamou, entusiasmado, prometendo de
imediato que, se Marcel os ajudasse a apanhar esse criminoso, a
situação dele melhoraria. – Convençam o vosso pai a colaborar
connosco!
Perante este pedido, Sara bateu as pestanas, sorriu e amaciou a
voz, levando Carol a concluir que a amiga optara de repente por
uma nova estratégia, a da sedução.
– Sim, claro. Estamos muito preocupados também com a nossa
mãe, não sabemos dela, nem da nossa avó...
A minha prima ainda traduziu esta última frase para português,
mas o resto daquela família já não merecia o precioso tempo de
Agostinho Lourenço, que perorou sobre os incómodos causados por
tantos refugiados.
– Muitos obtiveram vistos ilegais, dados contra as ordens
expressas do Estado português, como é o vosso caso! – zangou-se
o capitão.
Aflita, Carol perguntou:
– E o que lhes vão fazer?
O diretor da PVDE encolheu os ombros.
– Talvez devolvê-los a Espanha, para que regressem aos países
deles!
A preocupação da minha prima cresceu, mas Sara não se
perturbou e continuava a mirar o coronel, como se o tentasse. O
capitão Agostinho Lourenço também reparou e esboçou um leve
franzir de testa, enquanto o nervoso François se voltava a agarrar à
cadeira, Marrano semicerrava os olhos e Schlezinger corava,
embevecido.
O que estava Sara a fazer?, alarmou-se a minha prima. Era uma
ousadia perigosa brincar com os sentimentos daquele pérfido
coronel nazi que lhe matara o namorado!
32
Fuentes de Oñoro, 30 de junho e 1 de julho de 1940
No dia seguinte, Edite regressou, explicando vagamente que
estivera a satisfazer «clientes».
– Amanhã vou precisar de dinheiro e não tenho as vossas
posses!
– Já sabes que a fronteira reabre amanhã? – perguntou o
sempre atento Michael.
A francesa ignorou-o e juntou-se ao grupo. Estavam de novo
todos sentados à volta de uma das fogueiras, mas, talvez por ter
visto a prostituta, François irritou-se, acusando Sara de se ter
insinuado ao coronel alemão. Enervada, a filha de Marcel afastou-se
na direção dos carros, enquanto o zangado irmão seguia no
caminho oposto.
Aproveitando aquela ausência dupla, Carol perguntou à recém-
chegada Edite se o apelido de Otto era Strasser.
– Não pergunto isso aos clientes – esclareceu a francesa. –
Havia de ser bonito. Antes de me comer a passarinha, ora diga-me
lá: chama-se Bertrand, Cévert ou Tambay?
Intrigado, Katzenberg coçou a barba, dizendo que havia dois
irmãos Strasser que se tinham zangado com Hitler. Um deles
morrera na Noite das Facas Longas, em 1934.
– Gregor Strasser. O outro foi expulso do partido nazi e fugiu da
Alemanha.
A seu lado, Michael espantou-se: – Esse Otto Strasser?
Também conhecia a história do antigo nazi que tentara dividir o
movimento ideológico nacional-socialista, onde representava a ala
esquerda. A partir de 1934 e já no exílio, primeiro na Áustria, depois
em Praga e na Suíça, liderara o Movimento Livre Alemão, que
procurava aliados internacionais para depor Hitler.
– Há uns meses, disseram-me que estava em França – rematou
Michael, fazendo um impercetível sinal à minha prima para que não
revelasse o recente encontro com os dois fugitivos.
– O Otto é má rês – garantiu Edite. – Se não fosse o Rover, que
Deus o guarde, tinha-me batido!
Ao ouvir falar no piloto, uma onda de tristeza invadiu o coração
da minha prima, que decidiu juntar-se à amiga no Oldsmobile.
Porém e pelo caminho, um pensamento especulativo tentou
preencher o lugar da dor: Marcel e Otto deviam conhecer-se. O pai
de Sara perdera as fábricas na Alemanha e muito dinheiro. O ódio a
Hitler podia tê-lo aproximado de Otto Strasser.
– Saudades do inglês? – perguntou Sara, que mantinha
Chamberlain ao colo, compensando-o da ausência do dono.
– Muitas – respondeu Carol, sentando-se no banco do carro.
– Ainda te lembras da cara dele?
A pergunta da amiga gerou fortes recordações na minha prima.
O nariz longo, as sobrancelhas em arco, os olhos negros, serenos e
exploradores, o queixo com um sulco a meio, a boca fina. Rover
ainda estava vivo dentro dela.
«Assim vais ficar grávida», avisara o piloto, em Angoulême.
Amavam-se antes de adormecerem, a meio da noite e ao
acordarem. Ela por cima, ele por trás, os dois a lamberem-se, ele a
puxar-lhe os cabelos como se fossem a crina de um cavalo. Mas
não era só sexo, divertiam-se juntos de mil outras maneiras. Numa
estrada perto de Blois, fizeram uma corrida, a Hirondelle contra a
Peugeot, uma competição que ele ganhou, embora tenha perdido a
seguinte. À saída de Poitiers, Carol ultrapassou-o e esperou dez
segundos no final de uma subida, onde ele chegou a bufar,
enquanto ela celebrava a vitória.
Comiam e bebiam juntos, diziam disparates e falavam de coisas
sérias, e Rover afirmava que eram felizes. E tinham sido e Carol
temia nunca mais sentir o mesmo. «Um dia vai passar», dissera-lhe
Edite, mas não Sara, para quem era impossível esquecer um
grande amor.
A conversa ficou a meio quando as duas amigas viram o
Mercedes da Gestapo aparecer pela berma. Schlezinger saiu do
carro e pediu para falar com Sara. O diálogo foi sereno, o nazi
falava em voz baixa e ela inclinava a cabeça, atenta às palavras
daquele alemão bonito, para quem olhava só às vezes e depressa,
como se tivesse medo de se apaixonar. Ao contrário do sucedido no
ribeiro, onde o tronco nu lhe dera uma relevante vantagem, agora a
filha de Marcel parecia à mercê do coronel, qual corça submissa de
longas pestanas e olhos doces.
Mal o Mercedes abalou, Sara juntou o grupo. A pedido de
Schlezinger, a PVDE ia conceder uma autorização especial de
entrada em Portugal aos filhos de Marcel.
– Iremos para um local chamado Figueira da Foz.
– O que vais dar em troca? – irritou-se o irmão.
– Nada – garantiu Sara. – Portugal vai reabrir a fronteira
amanhã. Mas os vistos obtidos em Bordéus ou em Bayonne estão
cancelados.
Preocupado, Katzenberg perguntou: – E nós?
– Por mim, estou despachada – declarou Edite. – Ontem abri as
pernas ao Marrano e consegui isto... – Mostrou o passaporte com
um novo visto, que substituía o obtido em Bordéus.
Michael lembrou que Carol era portuguesa e que o visto dele,
passado em Paris, estava válido. Como Edite, Sara e François já
tinham a passagem garantida, só restavam duas pessoas.
– O professor e a Monika.
Eram casos difíceis. A criança órfã e apátrida entrara com um
passaporte falso em Espanha, mas a PVDE podia topar que a
fotografia não era dela. Quanto a Katzenberg, teria mesmo de
aguardar as decisões da polícia portuguesa.
– Não arranjei noiva em Paris... – murmurou ele, desconsolado.
– Eu volto ao Marrano hoje à noite! – propôs Edite. – Para o
senhor entrar em Portugal, faço outro servicinho de borla!
Todos se riram, mas Katzenberg proibiu-a de tal coisa e
começou a tocar flauta, o que muito alegrou os búlgaros, que os
chamaram outra vez para junto das fogueiras. Passaram mais uma
tarde animada, a cantar e a dançar, mas depois do jantar Sara
pegou ao colo no gato e puxou pelo braço de Carol, obrigando-a a
segui-la até ao Oldsmobile.
– O Schlezinger diz que sou a mulher mais bonita que conheceu.
Não parece, mas é um homem doce – apreciou a filha de Marcel.
– Cuidado, ele matou a Mademoiselle! E mandou fuzilar Rover! –
avisou a minha prima.
A amiga ignorou-a.
– Prometeu saber da minha mãe.
– Deste-lhe a morada de Estrasburgo? – assustou-se Carol.
Sara suspirou.
– Preciso de saber delas. Só o Schlezinger me pode ajudar.
Confia em mim.
A minha prima lembrou-se da mãe. Desde que ela morrera,
nunca mais gostara de viver em Portugal. Dava-se mal com o pai e
Paris surgira como uma terra prometida, a possibilidade de voltar a
ser feliz como fora antes de perceber o quanto a mãe sofria. Não
era frágil como ela e sabia-o desde os quinze anos. Por isso,
preferira a aventura francesa à segurança de uma cela doméstica,
mas agora sentia-se uma prisioneira recapturada.
Adormeceu a pensar na mãe e, na manhã seguinte, acordou
com os ruídos da azáfama. Os refugiados arrumavam os haveres
nos carros, desmontavam as tendas, enchiam os sacos. A fronteira
reabrira e era grande a esperança.
Carol e Sara viram Michael e Katzenberg, mas não Edite. A
razão deste novo desaparecimento só se clarificou quando Viktor e
Gertrud lhes mostraram a chave do Oldsmobile.
– A francesa vendeu-nos o carro – informou o búlgaro.
O negócio dos iogurtes permitira-lhes amealhar um pecúlio
razoável, usado naquela compra, onde a vasta família búlgara
caberia.
– Mas o automóvel não era da Edite! – protestou François.
– Ela disse que o dono morreu na estrada… – afirmou Gertrud.
– Que descarada! – criticou Sara.
Nesse momento, Carol recordou-se da frase proferida por Rover
em Blois, a propósito dos Stukas, que continuavam a metralhar as
estradas, mesmo depois de a França se ter rendido. «A vida não
tem de fazer sentido, só tem de ser inesquecível», dissera ele.
Nunca esqueceria Edite, um portento de vulgaridade, mas também
uma alma generosa, que insistira para ela comer bem após a morte
de Rover e que agora colocara uma única e humana condição aos
compradores do Oldsmobile.
– Exigiu que levássemos a Monika – disse Viktor.
A minha prima aceitou e todos os búlgaros, em especial as
crianças, bateram palmas. Viktor prometeu baralhar os passaportes
da prole, para que o de Monika não se destacasse.
– Vai correr tudo bem! – despediu-se sorridente, informando
ainda que iria abrir uma loja de iogurtes em Lisboa.
– Felicidades! – desejou-lhes Carol, depois de abraçar Monika.
Ao longo dessa manhã, ficaram claras as regras do Governo
português para regular a entrada de mais de trinta mil refugiados.
Todos os que possuíssem passaporte, visto de entrada e bilhete de
saída do país podiam seguir caminho. Nem os judeus seriam
barrados, apesar de lhes ser colocado um jota vermelho no
passaporte, para melhor os identificar.
Os que não tivessem vistos válidos seriam divididos por
nacionalidades e enviados para «campos de residência fixa», onde
ficariam à espera de uma autorização de saída, com a mobilidade
limitada à vila de colocação. Alemães e polacos iam para a Ericeira;
franceses, ingleses, belgas e holandeses, para a Figueira da Foz;
húngaros, búlgaros, checos e apátridas, para a Caparica.
– Ericeira. Onde fica? – perguntou Katzenberg, pois os alemães
foram os primeiros a ser chamados. Após a explicação de Carol,
despediu-se com um sorriso.
– Pena não termos casado…
Duas horas depois, chegou a vez dos franceses, ingleses,
belgas e holandeses. Michael, Sara e François abraçaram Carol,
prometendo reencontrarem-se em Vilar Formoso.
– Vais levar o gato na bicicleta? – perguntou a filha de Marcel.
Como de costume, a minha prima colocou Chamberlain no cesto
da Hirondelle, em cima do saco de roupa, mas só decidiu avançar
para a fronteira a meio da tarde, depois de o Oldsmobile também
partir. Durante muitos dias, aqueles tinham sido os seus
companheiros de viagem, mas agora voltava a ficar sozinha. Não
era medo o que sentia, mas sim uma solidão triste. Em Portugal,
estariam todos melhor, exceto ela.
33
Pau, 1 de julho de 1940
Após uma semana a convalescer em Hendaia, os alemães
estavam prontos para fazer a transferência de Rover, que, no
entanto, não foi imediatamente enviado para o campo de
prisioneiros, mas sim para um segundo hospital, em Pau.
Esta inesperada benesse foi obra de Polly, que permaneceu três
dias em Hendaia, barafustando constantemente com o médico
francês e com os soldados nazis, a quem Schlezinger ordenara uma
vigilância permanente ao piloto.
A americana tanto lhe azucrinou a cabeça que o clínico
determinou uma mudança por etapas. Primeiro, Rover ia para Pau,
na ambulância de Polly e seguido pelas motos nazis, permanecendo
aí uns dias, talvez uma semana, até estar em condições de ser
levado em definitivo para Gurs, onde estavam os outros três
ingleses de Hendaia.
– Eu é que te sei ajudar! – exclamou Polly nessa manhã, quando
veio sentar-se junto à cama dele, como fora costume nesses três
dias. – Vais para Pau na minha Ford!
Rover sorriu, ela era imparável. Embora as recordações que
tinha da ambulância não fossem as melhores, pois fizera a viagem
até Paris com dois feridos que morreram e outros dois em pior
estado do que ele, a ideia de sair daquele lugar agradou-lhe.
– Onde estão as minhas botas?
Era a sua principal preocupação, não queria deixá-las para trás,
mas Polly pousou em cima da cama um par de calças, outro de
meias, uma camisa e até umas cuecas! As antigas roupas eram
uma porcaria, deviam ter sido arranjadas pela maçadora da Carol,
que não tinha gosto nenhum.
– Além de que estavam sujas de sangue e furadas pela bala!
Desde que chegara, a americana não perdia uma oportunidade
para apoucar Carol. Eram maledicências afiadas e, quando Rover
defendia a minha prima, ela acrescentava sempre um «mas...»,
lavrando mais uma pequena crítica. Nada que o espantasse:
quando Polly estava com mulheres, dizia mal dos homens, mas na
presença destes o diabo eram as outras mulheres.
– Obrigado – agradeceu o piloto.
– Agora levanta-te – ordenou a americana. – Vou vestir-te.
Rover olhou em volta, encontrava-se numa enfermaria com
outros feridos, alguns dos quais mulheres, será que ela estava à
espera de que se despisse ali, em frente de todos?
– Então? – perguntou Polly, vendo que ele não se mexera.
Quando notou o embaraço, deu uma gargalhada. – Deixa-te disso,
estão todos com os pés para a cova!
Levantou-lhe o lençol pela vigésima vez. Era já um hábito,
sempre que chegava perto da cama, puxava o pano branco para
baixo, para lhe ver as pernas e a fralda, mas também para lhe
passar as mãos pelas coxas e massajá-lo levemente nas partes
íntimas.
– Toca a tirar esse trapo – ordenou ela.
Rover respirou fundo. Iria o seu corpo reagir ao toque das mãos
quentes de Polly? Nos dias anteriores, durante as mudanças de
fralda, a americana bem tentara, mas, como o sangue dele não
reagira, nada comentara.
Rover sentiu as mãos dela subirem vagarosamente pelas suas
pernas e arqueou as costas, enquanto ela puxava as cuecas por
debaixo do rabo dele e depois lhe ajeitava os órgãos sexuais, com a
mão em concha. O processo parecia terminado, mas a americana
pressionou-o.
– Não funciona – murmurou Rover. – Desde o tiro.
Polly riu-se, cheia de confiança.
– Eu trato disso em Pau.
Sem mais demoras, vestiu-lhe a camisa, as calças, as meias e
no final as botas, sempre com cuidado e atenção às cicatrizes.
– Já fizeste isto muitas vezes – comentou o piloto.
– Se os generais e os políticos viessem às enfermarias, não
declaravam guerra a ninguém – afirmou Polly.
– Obrigado – repetiu Rover.
Quando já estava sentado na cama, a americana aproximou-se e
beijou-o na boca. Porém, ele não a abriu.
Polly suspirou.
– Gostas mesmo dela...
– Gosto – disse ele.
Não voltaram a falar durante a saída do hospital de Hendaia,
nem durante a lenta viagem de ambulância, que demorou duas
horas. Mas, quando chegaram ao hospital de Pau, o piloto percebeu
que ela era conhecida por lá, pois conseguira-lhe um privilégio raro,
ficaria sozinho e não numa enfermaria. Os soldados alemães
estariam sempre à porta do quarto individual que lhe fora destinado,
mas era uma porta pesada, não se ouvia nada no corredor, garantiu
Polly, acompanhando estas palavras com mais um sorriso lascivo.
Rover não mostrou interesse.
– Quanto tempo vou ficar aqui?
– Os alemães aceitaram uma semana. É suficiente para eu te
curar – estabeleceu Polly.
Ela era demasiado insistente, mas ele sentia-se grato pela ajuda
que lhe dera. Procurou outro tema.
– Como é o campo em Gurs?
A americana fez uma descrição superficial e breve de um local
miserável, onde milhares de presos viviam em barracões sem
janelas. Como enfermeira da Cruz Vermelha, visitara o sítio algumas
vezes, mas não guardava boas recordações. Não fosse ter
descoberto, através dos ingleses de Hendaia, que Rover estava
ferido e provavelmente já teria marchado para Barcelona.
– Só volto a Gurs por tua causa. Estou farta de sangue e de
mortos. Preciso de me divertir, de beber e de dançar. E de outras
coisas também... – confessou Polly.
A insinuação era óbvia, mas Rover não se deixou cair em
tentação.
– Podes enviar uma carta para Portugal?
O pedido teve um efeito surpreendente na americana, que ficou
imediatamente tensa.
– Para quem? – perguntou.
– A Carol deve pensar que eu morri.
– Sabes a morada dela em Lisboa?
Como Rover abanou a cabeça, Polly afirmou que, em Gurs, as
missivas que os presos escreviam eram recolhidas pela Cruz
Vermelha, mas a organização só as podia fazer chegar aos destinos
finais se estes estivessem identificados.
– O teu amigo Michael pode tentar encontrar a Carol em Portugal
– lembrou Rover.
– Ia para a América, mal chegasse a Lisboa – afirmou Polly. – A
esta hora já está em Nova Iorque.
O piloto percebeu que ela não iria facilitar-lhe a vida. A
disponibilidade amável, a ajuda caridosa, a dedicação permanente
que Polly lhe devotara tinham sido substituídas por um pessimismo
inesperado. Ciúmes, deduziu Rover.
De repente, a americana voltou a sorrir.
– Despe-te, tens de descansar, para recuperares do esforço da
viagem.
O piloto sentou-se na cama e ela ajoelhou-se à frente dele e
começou a desapertar-lhe os atacadores das botas. Depois, e
enquanto ele se despia, saiu do quarto e voltou uns minutos mais
tarde, com uma camisa de noite branca.
– O nazi continua lá fora, mas eu não te deixo fugir – disse a
americana, antes de a sua mão direita pressionar as cuecas de
Rover, à procura de algo que não existia.
– Não vale a pena – murmurou este, de olhos no chão. – Devias
ir para Barcelona.
PARTE IV
NEGÓCIOS ARRISCADOS
34
Vilar Formoso, 2 de julho de 1940
O primeiro dia que passaram em Portugal foi repleto de quezílias
e instabilidade. Sara estava desiludida com a minha prima, pois
Michael revelara-lhe o encontro secreto com Marcel, em Fuentes de
Oñoro.
– Desconfias de mim? – perguntou, no quarto da pensão, em
Vilar Formoso, que as duas partilhavam.
Carol justificou-se: Michael temera que a PVDE suspeitasse do
nervosismo dos filhos de Marcel.
– Claro! – ironizou Sara. – Tu tens um sangue-frio espantoso,
mas eu sou uma tola que desatava logo a bater os dentes!
Ninguém podia apontar falhas à resiliência dos dois irmãos e
Carol pediu desculpa à amiga, mas esta permaneceu amuada até à
hora do almoço. Só quando a minha prima a convidou para um
passeio, na Hirondelle, por Vilar Formoso é que o seu humor
melhorou e até se esqueceu de levar o gato, que nos últimos dias
carregara sempre ao colo.
A vila não era grande e os poucos cafés e restaurantes estavam
repletos de refugiados. Após visitarem a estação, onde centenas
esperavam por um comboio que os levasse para Lisboa, decidiram
almoçar e só depois regressaram à pensão, à entrada da qual foram
abordadas por um homem magro e alto, que se apresentou como
Augusto, dizendo ser dirigente de uma organização que auxiliava os
judeus.
– A PVDE não vos quer em Vilar Formoso – informou.
Enervada com a inesperada intromissão, Sara entrou na pensão,
onde Michael e François jogavam às cartas na sala, mas Augusto
seguiu-a e revelou ter sabido pelo professor Katzenberg que eles
esperavam o pai. Inquieto, lembrou-lhes que estavam ali milhares
de judeus em dificuldades.
– Por favor, não os prejudiquem! Salazar ainda pode reverter a
decisão.
– Ajuda-nos a trazer a nossa mãe? – perguntou de súbito
François. – Ela ficou em Estrasburgo, com a nossa avó, que é judia.
O homem tomou nota dos nomes de ambas e prometeu
novidades, deixando a morada da organização, em Lisboa.
– Mas têm mesmo de partir para a Figueira da Foz – pediu.
– Amanhã de manhã – prometeu Michael.
Mal Augusto abalou, a nervosa Sara repetiu que não deixaria
Vilar Formoso sem falar com o pai, mas, quando se preparava para
subir ao quarto, surgiu à porta da pensão o coronel Schlezinger, que
exigiu uma conversa privada com ela, para grande enervamento de
François, a quem Michael teve de segurar pelo braço, para que não
seguisse a irmã até à rua.
Alguns minutos depois, a filha de Marcel regressou à sala e
confirmou que a mãe e a avó continuavam em casa, em
Estrasburgo. Raquel fora incluída na lista de judeus a ser enviados
para a Alemanha, mas o coronel conseguira evitar esse terrível
destino. A vinda de ambas para Portugal era possível, mediante
uma autorização especial de Schlezinger e um pagamento
considerável ao Terceiro Reich.
– Disse-lhe que o dinheiro não era problema – reportou Sara. –
Exigiu que fôssemos para a Figueira da Foz, onde irá logo que tiver
mais informações.
– Acreditas num coronel nazi? – enervou-se François.
Michael voltou a colocar a mão no braço do rapaz,
aconselhando-o a ter calma. Era melhor partirem na manhã
seguinte, não podiam desafiar a PVDE e a Gestapo. Desta vez,
Sara concordou, mas o irmão continuou a provocá-la enquanto ela
subia ao quarto.
– Até o gato já te deixou, com asco! – gritou ele.
Ao ouvi-lo, Carol deu-se conta de que Chamberlain
desaparecera há algumas horas. Intrigada, preparava-se para o ir
procurar quando, à porta da pensão, apareceu Edite.
– Ora viva, meus amores! – saudou a francesa.
Atrás dela, entrou um homem gordo, loiro e corado, como se
tivesse corrido muito, que se apresentou como Hank, estendendo a
mão a Carol e a Michael, enquanto Edite dizia tratar-se de um
«milionário americano», garantindo que ele lhe ia dar boleia até
Lisboa. Contudo, antes da viagem tinha de o satisfazer, o que não
era possível no carro, nas barbas da PVDE.
– Emprestam-me um quarto? O Hank tem um Rolls Royce!
De súbito entusiasmado, François foi à rua examinar o bólide e
logo Michael sugeriu ao americano que levasse o rapaz a dar uma
volta no carro, caso contrário não o conseguiriam convencer a
dormir no mesmo quarto do que a irmã. Solícito, Hank cumpriu o
pedido e, após o jantar, François não protestou por subir ao primeiro
andar.
Quando Edite e o milionário se retiraram também, Carol ficou
sozinha com Michael.
– Há rum? – perguntou. – O Rover gostava.
O jornalista sorriu-lhe.
– Quando perdes um autocarro, vem logo outro a seguir...
Esta subtil tentativa de sedução foi interrompida pela aparição de
Hank, de camisa e ceroulas e cabelo despenteado. Alguém batera à
janela do quarto inicialmente destinado ao jornalista, que ficava no
rés-do-chão.
– El señor Micael – imitou o anafado americano.
Apressados, Michael e Carol saíram pela porta das traseiras e
viram um vulto a vinte metros, que seguiram por várias ruas até
entrarem numa oficina, onde se encontravam, no meio de uma
parafernália de escapes, rodas e pneus, o contrabandista Pablo,
Marcel e Otto.
– Buenas noches, señor Micael – disse o primeiro dos três.
– Buenas noches, Pablo – saudou o jornalista.
Marcel abraçou a minha prima, mas Otto nem lhe sorriu.
– Vamos partir esta noite – disse o pai de Sara. – Temos duas
bicicletas.
– Bicicletas? – entusiasmou-se Carol. – Para onde vão?
Michael adiantou que não haviam tomado qualquer decisão, pois
precisava de uma semana ou duas para tirar Otto e Marcel de
Portugal em segurança.
– Tenho de arranjar uma casa onde os esconder – acrescentou.
Sempre voluntariosa, a minha prima mencionou a quinta dos
avós, no Minho, próxima de Guimarães. O avô era republicano,
andara fugido à polícia e nunca o tinham descoberto por lá.
– Posso ir com vocês, na Hirondelle.
Obtido o consenso sobre o destino, o jornalista abriu um mapa,
que iluminou com uma lanterna. Depois de Vilar Formoso, da
estrada nacional em direção à Guarda saía uma estrada secundária
para Pinhel, pela qual Marcel e Otto seguiriam uns quilómetros,
esperando por Carol na primeira aldeia. Daí para a frente, os três
continuariam juntos por um itinerário que incluía Trancoso,
Moimenta da Beira, Lamego, Régua e Amarante, até chegarem a
Guimarães.
– Quantos dias demoramos? – perguntou Marcel.
– Talvez uma semana – previu Carol. – Como não estão
habituados a pedalar, vou ter de ir mais devagar.
Marcel e Michael sorriram, mas Otto não se manifestou e, ao
contrário do pai de Sara, também não se despediu dela.
De regresso à pensão e ao ver todas as portas fechadas, o
jornalista bateu ao de leve na janela do quarto de Hank e Edite.
Quando esta apareceu, ronronou a Michael: – Vens salvar-me, mon
chevalier?
Carol e ele entraram pela janela e viram Hank a ressonar,
deitado na cama. Exibindo as pequenas mamas de forma
descarada, a francesa lamentou-se: o dono do Rolls Royce estava
bêbado e nem gozara, mas a ela não lhe faltava energia. Porém,
Michael ignorou o convite implícito e rumou à sala, onde ajeitou as
almofadas no sofá.
– Conheces bem Portugal – murmurou a minha prima.
Ele encolheu os ombros.
– Já cá tinha vindo.
Carol duvidou: – Um jornalista americano, do Philadelphia Times,
especialista no interior do meu país?
Depois de se sentar no sofá, Michael confessou que vivera em
Lisboa uns anos e viajara bastante, do Minho ao Algarve. Curiosa, a
minha prima sentou-se numa cadeira à frente dele.
O jornalista sorriu, afagando o sofá a seu lado: – Vem para aqui.
– Desculpa! – disse ela, levantando-se de repente. – Vou dormir.
Não estava para intimidades e, sem olhar para trás, subiu as
escadas e dirigiu-se ao quarto, onde verificou que Sara e François já
tinham adormecido, a amiga na cama e o irmão no chão, por cima
de uma colcha. Subitamente, estranhou a ausência de Chamberlain.
Onde andaria o gato? Se descesse à sala, Michael ia pensar que
tinha mudado de ideias, o melhor era procurá-lo só no dia seguinte.
Minutos mais tarde, já deitada na cama junto a Sara, ouviu uns
ruídos abafados. Esperou um pouco, mas, como os rumores não
paravam, saiu do quarto, desceu quatro degraus e espreitou para a
sala. Edite estava de gatas e nua, em cima do sofá, enquanto
Michael a penetrava por trás.
A visão provocou-lhe saudades de Rover, mas também uma
desilusão com o jornalista. Minutos antes, tentara seduzi-la, apenas
porque precisava de mulher, qualquer uma que fosse. Edite servia,
Michael só queria sexo.
Regressou à cama em silêncio e chorou por Rover. Mas, quando
as lágrimas secaram, sentiu-se orgulhosa por ter resistido. Michael
não a merecia, lembrava-lhe o pai, sempre a saltitar entre mulheres,
sem dar valor a nenhuma. Ainda bem que o seu destino era a quinta
dos avós, Lisboa seria um calvário.
35
Vilar Formoso-Guimarães, 3 a 16 de julho de 1940
Embora tenha sido Michael quem descobriu o gato morto na
sala, foram Carol e Sara que o enterraram, com a ajuda de uma pá,
num descampado nas traseiras da pensão. A minha prima sentiu-se
culpada, andara distraída nos últimos dias e não se apercebera do
progressivo apagar de Chamberlain, mas lembrou-se do dono.
Algures em Angoulême, Rover dissera que as vidas das pessoas e
dos animais eram como bolas de sabão.
– Todas de tamanhos e formas diferentes e todas duram pouco.
Depois de limpar uma última lágrima, Sara limitou-se a
acrescentar: – As dos soldados ainda menos.
De regresso à pensão, notaram que o Rolls Royce de Hank já
partira e que a Gestapo estava pronta para escoltar o Citroën até à
Figueira da Foz. O coronel Schlezinger encontrava-se na rua,
encostado ao Mercedes e ao lado do tenente Marrano. Quando viu
Carol despedir-se dos amigos, o polícia português perguntou se ela
não ia também.
– A Hirondelle não cabe no Citroën – informou a minha prima.
Após a partida dos carros, dirigiu-se à estação ferroviária de Vilar
Formoso, onde centenas de pessoas aguardavam pelo próximo
comboio. Como a PVDE se alheou dela, pois Marrano devia ter mais
que fazer, abandonou a estação e montou na Hirondelle, seguindo
pela estrada principal, a caminho da Guarda. Pedalou uns
quilómetros e virou no local combinado, seguindo para a pequena
povoação onde os outros dois ciclistas a aguardavam.
Marcel disse-lhe que já tinham água, pão, queijo e fruta, e Carol
estabeleceu Trancoso como o objetivo a atingir até à hora de jantar.
Porém, a viagem revelou-se mais difícil do que esperava. Nas
subidas, Otto e Marcel baixavam muito o ritmo e o fôlego de ambos
falhava por serem fumadores. As estradas também não ajudavam: o
alcatrão rareava e o trajeto era acidentado, o oposto das vias planas
francesas que Carol percorrera com Rover.
A meio do dia seguinte, em Moimenta da Beira, Otto desatou a
protestar, dizendo que tinha os músculos do esfíncter assados.
– Há quem coloque bifes crus nas cuecas! – revelou Marcel.
Exasperado, o alemão procurou um talho, onde exigiu uma carne
cortada fina, obrigando os acompanhantes a um espetáculo
absurdo, quando na rua e sem pudor colocou um bife entre as
nádegas.
– Não aguento pedalar com o cu neste estado! – rematou.
Este vernáculo despertou em Carol saudades de Edite e do
anterior grupo com quem viajara. Aquele duo não tinha graça
nenhuma. Marcel vivia ansioso por nada saber sobre a mulher e
cada dia falava menos, assemelhando-se a Otto, quase sempre
uma tumba fria e silenciosa.
A viagem resumiu-se a pedalar, comer e dormir. Nas pequenas
povoações, limitavam-se a comprar pão e a encher as garrafas nas
fontes, pois só nas maiores, como Moimenta, Lamego ou Amarante,
existiam restaurantes. Mas em alguns dias calcularam mal a
distância entre vilas e cidades e tiveram de recorrer às vinhas e aos
pomares, donde roubavam maçãs, uvas ou peras.
Em Lamego e ao terceiro dia, pararam vinte e quatro horas
completas para recompor as forças, antes de atravessarem o Douro
numa barcaça até Peso da Régua, onde a Guarda Nacional
Republicana os parou, para verificar a documentação, mas logo os
deixou seguir, pois não só tinham os passaportes em ordem, como a
passagem de refugiados se estava a tornar comum por ali.
No dia 10 de julho, depois de uma segunda pausa de vinte e
quatro horas, em Amarante, chegaram finalmente a Guimarães,
exaustos devido a um esticão final de quarenta quilómetros. A avó
de Carol apanhou um susto quando a viu atravessar o portão na
Hirondelle, do qual ainda não recuperara quando a neta se abraçou
a ela a chorar de alegria por a rever, mas também de desgosto.
Dormira sempre sozinha nas pensões e, se nos primeiros dias
ainda pensava em Rover, à medida que o cansaço ia crescendo o
espírito de Carol focava-se em temas mais prementes, como a
proteção dos pneus (as outras bicicletas tiveram dois furos cada
uma, mas a Hirondelle resistiu incólume), ou a óbvia amizade entre
Otto e Marcel.
– Há quanto tempo se conhecem? – perguntou-lhes na última
noite, em Amarante.
– Será perigoso? – especulou o pai de Sara, como se pedisse
permissão ao alemão para responder. – Fomos colegas de curso. O
Otto era um nazi fervoroso.
Trinta anos antes, Marcel estudara engenharia em Estugarda, e
tinha conhecido Otto Strasser na universidade. Entre eles nascera
uma amizade improvável, regada a cerveja e alimentada a hábitos
de estudo semelhantes, que esbatiam as claras diferenças
ideológicas, pois sendo Marcel filho de um industrial, o seu destino
era a administração das empresas do pai e soavam-lhe hostis os
movimentos dos trabalhadores que encantavam o alemão.
Após o curso, cada um seguira o seu caminho e só se
reencontraram quando Otto abandonou a Alemanha e lançou uma
organização para apear Hitler do poder, estabelecendo sede na
Suíça, onde o pai de Sara o visitara muitas vezes.
– Tornei-me apoiante do Movimento Livre Alemão – contou
Marcel.
Com as fábricas alemãs nacionalizadas, dispôs-se a financiar a
derrocada dos nazis, mas infelizmente tinha subestimado Hitler, que
consolidou o poder e depois iniciou a guerra.
A inesperada entrada dos alemães pelas Ardenas obrigara-o a ir
buscar a mãe à pressa. Ao mesmo tempo, encurralado em Genebra
e vigiado pela Gestapo, Otto admitiu fugir para Inglaterra e
combinou com o amigo encontrarem-se em Estrasburgo. Contudo, a
rapidez da blitzkrieg germânica impôs uma aceleração de planos.
– A Anne obrigou-nos a partir para Paris no Citroën. Ficou com a
minha mãe e prometeu juntar-se a nós – relembrou Marcel.
Para despistar a Gestapo, os dois aceleraram até à capital
francesa, à procura de ajuda, pois Otto já falara com os ingleses e
Michael esperava-os.
– O Michael é inglês? – espantou-se a minha prima.
O pai de Sara confirmou, com um aceno de cabeça. Ao fim de
uns dias e perante a aproximação dos nazis, os ingleses tinham-nos
convencido a fugirem, separados, de Paris, deixando também para
trás o Citroën. Depois de parquear o carro próximo de casa, Marcel
conseguira falar com Carol, pedindo-lhe que convencesse os filhos
a escaparem para Bordéus.
– Como saíram de Paris? – perguntou a minha prima.
Marcel tomara um comboio até Bordéus e Otto rumara a
Orleães, com uma família de ingleses.
– Tive sorte, depois de o carro deles ser destruído pelos Stukas,
encontrei a Edite e o Oldsmobile... – contou o alemão, numa das
poucas vezes que Carol escutou a sua voz.
– O Michael sabia da vossa fuga? – perguntou Carol.
– Foi ele quem a organizou – garantiu Marcel.
A partida de Paris, o encontro em Bordéus, a passagem da
fronteira em Hendaia, a pensão em San Sebastián, a travessia de
Espanha e a entrada em Portugal com a ajuda do contrabandista
Pablo, tudo fora planeado por Michael, exceto a excelente
coincidência que se dera em Bayonne, quando este último se
cruzara com o grupo de Carol.
– Ele enganou-me sobre tanta coisa... – murmurou a minha
prima.
Até o jornal Philadelphia Times era falso, garantiu Marcel,
abonando, no entanto, em favor de Michael.
– Se vos mentiu, foi para vosso bem. Mas tu também foste
essencial! – exclamou. – Os meus filhos só chegaram a Portugal
graças a ti!
Embora fosse verdade, a minha prima sentiu-se muito triste e
assim continuou até à chegada a Guimarães, onde disse aos avós
que Marcel e Otto eram refugiados de guerra, que precisavam de se
esconder da PVDE até obterem documentos.
– Gente como eu – orgulhou-se o avô.
Ele e a avó de Carol tinham-se conhecido num colégio, no Porto,
e, além de se terem apaixonado, haviam-se encantado pela língua
de Molière e Victor Hugo. A lua-de-mel passada em Paris fora, aliás,
uma das razões para a minha prima escolher aquela cidade para
estudar literatura.
– Que pena deixares o curso a meio – rematou a avó de Carol.
– Vou voltar, quando a guerra acabar – prometeu a neta.
Em Guimarães, os três recuperaram as forças, mas, no dia 13 de
julho, a pressão de Otto era tal por querer fugir de Portugal que a
minha prima se dirigiu à estação dos correios da cidade. Michael
rabiscara num papel um número, para onde ela devia telefonar. Uma
mulher atendeu e, um minuto depois, o falso jornalista veio ao
telefone.
– Eles estão bem?
Apesar de ressentida por ter sido enganada, Carol informou-o de
que os «ciclistas» se encontravam em bom estado, como se falasse
em código.
– Quando começa a próxima etapa? – perguntou.
Sentiu Michael agradado com a esperteza dela, mas
aparentemente havia demasiados «ciclistas» em Lisboa.
– Podes vir só tu?
– Não tenho onde ficar – mentiu Carol, pois não queria ver o pai.
– Há um quarto livre em minha casa – avançou Michael.
Ela ignorou o convite e perguntou pela amiga e por François.
– A Sara anda angustiada... – disse ele.
– Onde estão hospedados? – perguntou Carol.
– Em casa de uma portuguesa que ajuda os refugiados –
explicou Michael. – Mas a Sara precisa de ti.
A minha prima não hesitou.
– Então vou primeiro à Figueira da Foz.
Na sua última noite em Guimarães, deitou-se no colchão fofo da
cama com uma forte sensação de solidão. Rover já rareava as
visitas, o cheiro dele dispersava-se, os dedos dele tocavam-lhe só
ao de leve, como os de um fantasma. E Michael convidara-a...
36
Figueira da Foz, 18 de julho
Uma vez que ia viajar sozinha, a partir de Guimarães, a minha
prima seguiu o conselho da avó e enfiou a Hirondelle num vagão
especial, seguindo de comboio para o Porto, onde dormiu numa
pensão, na Ribeira, aproveitando a manhã seguinte para visitar a
cidade. Encantou-se com o rio, as pontes e as caves de Gaia, mas
sobretudo com os azulejos da magnífica Estação de São Bento.
Depois, a meio da tarde do dia 17, partiu de comboio em direção a
Coimbra, onde decidiu também pernoitar, para poder visitar a
Universidade local.
Portanto, só chegou no dia 18 de julho à Figueira da Foz. A
cidade cheirava a mar e a verão nesse final da tarde, e Carol
pedalou junto à praia, onde chorou uma última vez por Rover. Era
tempo de aceitar a perda, tinha vinte e dois anos e queria regressar
a Paris para estudar. Pela forma como a guerra avançava, a
Alemanha iria facilmente vencer a Inglaterra, o que significaria o fim
dos combates na Europa Ocidental. Talvez em setembro pudesse
voltar à Residencial de Saint-Sulpice.
Estava na hora de procurar os amigos. Michael tinha-lhe dado a
morada e chegou lá em minutos. A porta da casa foi aberta por uma
senhora dos seus cinquenta anos, chamada Adelaide, que
costurava roupa, o surpreendente novo passatempo de Sara.
– Não nos deixam trabalhar e só podemos ir à praia na
companhia dos locais! – queixou-se a amiga, após os abraços do
reencontro.
A Carol, pareceu-lhe que distanciarem-se da guerra fizera bem
aos dois filhos de Marcel. Sem conseguirem conversar com Dona
Adelaide, pois nem ela falava francês nem eles português, os
irmãos estavam obrigados a uma paz provisória.
– Não parecemos os mesmos... – concedeu Sara, com um
sorriso quase tão forçado como a careta de François.
– Sabes do meu pai? – perguntou o rapaz.
Carol nem sequer admitiu que fora de Vilar Formoso até
Guimarães com Marcel e Otto. Por precaução, era melhor os
amigos continuarem a pensar que seguira de comboio para a capital
portuguesa, donde agora tinha vindo.
– O Michael é que sabe disso. Mas Lisboa está cheia de
refugiados.
– Tiveram notícias da minha mãe? – questionou François.
– Não – respondeu Carol. – O Augusto está a tentar.
– Ninguém faz nada! – irritou-se Sara.
Igualmente enervado, o irmão denunciou-a: – O Schlezinger já
veio cá duas vezes! Esta tonta convenceu-se de que o nazi vai
trazê-las de França!
– Como? – perguntou Carol.
O rapaz acusou o coronel de ir levar o pai à ruína, mas Sara
desdramatizou: a soma a pagar não era uma fortuna.
– Sabes bem o que ele quer... – resmungou o irmão.
Sara baixou os olhos e recomeçou a coser. Nesse momento,
reentrou na sala Dona Adelaide, contentíssima com a presença de
Carol, pois finalmente alguém a entendia.
– Ai, menina, isto por gestos é difícil! – queixou-se a costureira.
Enquanto servia um chá, descreveu a receção aos refugiados,
na Figueira da Foz. Os voluntários inscreviam-se junto de uma
comissão, liderada pelo presidente da Câmara, que organizava os
quartos disponíveis. Todas as semanas, os forasteiros recém-
chegados eram acolhidos numa pequena festa, para se
ambientarem à cidade, e quem os hospedava oferecia-lhes cama e
comida, mas tinham de ser eles a lavar a própria roupa.
– Alguns chegam só com a que trazem vestida – contou Dona
Adelaide, que obviamente costurava para os refugiados,
considerados por ela boa gente, «muito engenhosa». Uma alemã
fazia uns bolos deliciosos, pequenos, redondos e cobertos de
açúcar.
– Chamam-lhes bolas-de-berlim, a senhora é de lá.
– São boas – confirmou François, após a tradução de Carol.
Apesar de proibidos de venderem quaisquer produtos, muitos
refugiados recorriam a expedientes para conseguir uns cobres.
Porém, a PVDE andava sempre de olho neles, a ver se fugiam,
coisa que surpreendia a costureira.
– Os coitados iriam para onde? Os países deles estão em
guerra, ficam melhor aqui.
Para evitar que Sara e François fossem vencidos pelo ócio,
Dona Adelaide convencera a primeira a coser e o segundo a ser
moço de recados numa pastelaria.
– Nada que incomode a PVDE – murmurou, olhando de soslaio
para Sara.
– O que foi? – perguntou a minha prima.
Na Figueira da Foz, abundavam as preferências republicanas e
mesmo Salazar era aceite com dificuldade, quanto mais Hitler. Um
alemão a passear pelas ruas de braço dado com uma rapariga
francesa causava natural alarido, protestou a costureira.
– Não sei o que quer, mas sentou-se nessa cadeira, onde a
menina está.
Quando Carol lhe contou que a Gestapo procurava o pai de
Sara, sentenciou: – Coisa boa não deve ter feito.
A minha prima defendeu os amigos: estavam muito preocupados
com a mãe e a avó, que tinham ficado em França. Esta última era
judia e os alemães queriam enviá-la para a Alemanha, mas como a
primeira era católica havia uma possibilidade de serem libertadas.
– Estão presas? – afligiu-se a costureira.
– Só o coronel alemão sabe – adiantou Carol. – É por isso que a
Sara o recebe.
Estes argumentos amaciaram Dona Adelaide.
– Coitadas, a guerra é terrível... Mas na Figueira ninguém lhes
faz mal!
Assim era e a semana correu agradável. Carol foi à praia com os
amigos todos os dias, até Schlezinger reaparecer, com os
omnipresentes Mercedes negro e ajudantes. Ao ver a minha prima,
o coronel saudou-a com inesperada simpatia. Parecia outro, havia
nele um claro alívio, a tensão da caçada esbatera-se. Encontrar
Marcel e Otto já não era uma prioridade tão premente, o seu único
desejo era rever Sara.
Naturalmente enervado, François recusou um passeio à beira-
mar, mas Carol conteve o ódio que aquele homem lhe inspirava e,
em nome da amiga, acompanhou o par e ficou a saber que a avó e
a mãe de Sara tinham escapado por um triz ao envio para a
Alemanha, devido à intervenção empenhada de Schlezinger. No
presente, continuavam em Estrasburgo e para a saída ser viável
precisavam que fossem ultrapassados alguns detalhes.
– Expliquei à sua mãe o que era necessário e disse-lhe que os
filhos estavam bem... – relatou o alemão em voz suave, antes de
declarar: – E vou cumprir o prometido!
– Obrigado – agradeceu Sara, abrindo o sorriso.
Animado, Schlezinger convidou-a para jantar no Hotel da
Figueira, o melhor da localidade, onde se comia um peixe excelente!
A filha de Marcel fitou Carol em busca de aprovação, mas, como
esta nada disse, aceitou o desafio, ouvindo os impropérios
insultuosos do irmão mal regressaram a casa. Irritada, subiu ao
quarto, enquanto François espumava de fúria e Dona Adelaide
garantia a Carol que aquela pouca-vergonha ia ser comentada.
Após uma tentativa frustrada de acalmar o rapaz e suavizar a
opinião da costureira, a minha prima foi ter com Sara e avisou-a: –
Sabes o que o coronel quer...
– Sei – ripostou a filha de Marcel.
– E vais fazê-lo?
– E se for a única maneira de as salvar?
De certa forma, Carol percebia a dúvida da amiga, o sacrifício
tinha um objetivo nobre. Porém, não queria assistir a esse
degradante momento e decidiu rumar a Lisboa.
– Vais ter com o Michael e ainda me criticas? – acusou Sara.
– Não é a mesma coisa – defendeu-se Carol.
– Também quer dormir contigo – lembrou a amiga.
– Só preciso de um quarto, não quero... conviver com o meu pai!
– por momentos, quase se esquecera da mentira que contara.
Sara franziu a testa.
– Não há pensões em Lisboa?
A minha prima defendeu-se: não ia cair nos braços de um óbvio
mulherengo, como Michael.
– Vi-o com a Edite em Vilar Formoso!
A filha de Marcel exigiu pormenores e Carol descreveu a cena no
sofá da pensão, enquanto Hank ressonava, bêbado, no quarto.
– Ficaste excitada? – perguntou Sara.
– Claro que não! – jurou a minha prima.
Não era totalmente verdade: o corpo de Michael e o prazer
evidente que provocara em Edite tinham-na perturbado...
37
Gurs, 18 de julho de 1940
Todos os dias Rover pensava em Carol e no que ela estaria a
sofrer por julgá-lo morto. Porém, à medida que as semanas iam
avançando, tornara-se evidente que a minha prima iria superar a
perda do namorado. Era assim a maior parte das pessoas perante a
morte de quem amavam. Choravam, entristeciam, ficavam abatidas,
mas passado algum tempo começavam a renascer. Fora isso que
se passara com a mãe de Rover, depois de o pai morrer. E também
o que ele próprio sentira, primeiro com o falecimento do pai e depois
com o da mãe. Entrara na RAF e reinventara a vida.
Um mês e dois dias após o tiroteio em Hendaia, Carol deveria
estar no princípio desse esperado renascimento. Era nova, vinte e
dois anos apenas, a vida pela frente. Talvez quando a guerra
acabasse voltasse a Paris ou talvez mais cedo. Ela não se dava
bem com o pai, nem queria regressar a Lisboa, ficaria por lá o
menos tempo possível. Porém, não se controla uma guerra. A
França estava ocupada, as bombas já caíam na Inglaterra, iria Hitler
invadir o Reino Unido?
O desembarque nazi aconteceria até ao final do verão,
garantiam os companheiros de Rover no campo de prisioneiros.
Eram três marinheiros da Royal Navy – William, a quem os outros
chamavam Billy, Rod e Newt –, cujo barco fora afundado por um U-
Boat, um submarino nazi, no golfo da Biscaia.
Muitos companheiros deles tinham morrido, com as explosões
dos torpedos e os incêndios a bordo, mas um grupo considerável,
talvez uns vinte e cinco, chegaram, nos salva-vidas, à costa
francesa. Fugiram na direção de Bayonne, divididos em pequenos
grupos, para não serem notados. Metade tinha passado a fronteira
para Espanha ou seguido para Marselha, mas outros tantos haviam
sido capturados pelos nazis.
Fora o caso dos quatro ingleses de Hendaia. Nos arredores de
Bayonne, um agricultor francês cedeu-lhes uma carroça, mas, como
o cavalo era velho, a viagem demorou e chegaram a Hendaia já
depois do armistício. Estavam à espera de atravessar a fronteira
quando Rover lhes foi falar e os nazis chegaram.
Um deles morrera, o primeiro a ser fuzilado, mas Billy ainda hoje
agradecia ao piloto ter-se colocado à frente do tiro que o ia matar.
– Mad man, mad man, I owe you my life! – exclamara, quando
Rover chegou finalmente ao campo de Gurs.
Os três ingleses tinham sido enviados para lá logo após a
suspensão do fuzilamento, por ordens de Schlezinger, mas Rover só
se juntou a eles a 14 de julho, depois de uma semana passada no
hospital de Hendaia e outra no de Pau. Os três ingleses ficaram
incrédulos, julgavam-no morto.
– A Carol também – acrescentou Rover.
Relatou aos seus novos companheiros a forma como a
conhecera em Paris, bem como a história de Marcel e dos filhos.
Por último, falou-lhes de Polly, a quem devia muito, pela atenção
que lhe dedicara. Levara-o de Hendaia para Pau, onde o
acompanhara outra semana, transportando-o depois até Gurs na
ambulância, sempre acompanhada pelas motos alemãs.
– Agora foi para Barcelona, arejar a cabeça. Estava farta de
feridos e mortos – contou Rover.
– Está apaixonada por ti – espicaçou Rod, fazendo os colegas
rir. – Tantos dias à tua cabeceira, o que ela queria sei eu!
– Vai com demasiada sede ao pote – denunciou o piloto.
Billy franziu as sobrancelhas.
– Que se passa, mad man? Uma americana mexe-te no pau e
dizes que não?
Rover revelara alguns pormenores sobre o comportamento de
Polly, sobretudo em Pau, onde ela o tentara de forma bastante
empenhada. Porém, o piloto rejeitara-a, em parte porque continuava
enamorado de Carol, mas também porque o seu corpo não reagira.
É claro que não denunciou esse segredo íntimo aos três ingleses,
não eram amigos a quem se contasse uma coisa dessas. Queixou-
se apenas da operação e das dores de barriga, dizendo estar fraco
e cansado.
– Mad man, era só deitares-te na cama! – exclamou Billy. – Ela
mamava-te e só tinhas de mexer os olhos!
Os outros deram uma gargalhada e Rover também sorriu, mas
depois abanou a cabeça.
– Isto dói. E vomito todos os dias...
Recuperara algumas energias, só que não retinha muitos
alimentos e sofria convulsões intestinais. Perdera vários quilos e
estava mais magro do que em Paris, mas havia no seu coração uma
luz e uma emoção permanentes, que lhe davam vontade de viver.
Apesar das mazelas, não considerava a hipótese de desistir, queria
rever Carol.
O campo de Gurs era miserável, lama e barracões sem janelas,
colchões de palha, retretes e urinóis a céu aberto, arame farpado,
rancho enjoativo e demorado. Um tormento. Embora os guardas não
fossem cruéis, pois eram franceses e não alemães, a existência dos
mais de catorze mil presos era dura e as únicas alegrias aconteciam
durante as visitas das enfermeiras da Cruz Vermelha, que
distribuíam cigarros, chocolates e cobertores.
– Se a Polly não se despacha, esta trinca-te! – brincou Rod,
quando uma das voluntárias tinha sorrido a Rover, a primeira vez
que o vira.
Polly partira há doze dias para Barcelona, mas não regressara e
também não levara qualquer mensagem para Carol. Rover insistira,
mas a americana enrubescia de ciúmes dela e sugerira que ele
enviasse antes uma carta para a Cruz Vermelha, a pedir livros ou
baralhos de cartas, isso podia-se arranjar.
Nessa tarde, a enfermeira que lhe sorrira uns dias antes veio ao
barracão deles. Ao vê-lo – Rover estava encostado a um canto,
agarrado à barriga, caíra-lhe mal a sopa –, aproximou-se e quis
saber do seu estado. Falaram em inglês, mas ela era francesa,
chamava-se Jacqueline e devia ter quarenta anos. Raramente
sorria, mas foi-lhe buscar um frasquinho de comprimidos e
aconselhou-o a tomar dois a seguir às refeições.
– É verdade que há presos que fogem daqui? – perguntou
Rover, ainda com os remédios na palma da mão.
– Quase todos são apanhados – murmurou Jacqueline.
Dentro do barracão onde os ingleses dormiam havia prisioneiros
de várias nacionalidades – franceses e alemães e polacos e checos
–, a maioria civis, mas ela não sabia se algum falava inglês e tinha
receio de ser denunciada aos guardas.
– A semana passada escaparam três judeus alemães. Mas não
andaram mais de dois quilómetros na floresta, ninguém os ajudou –
contou Jacqueline.
– Como é que conseguiram fugir? – perguntou o piloto.
– Porque queres ir? – ripostou ela. – Estás muito fraco.
Rover disse-lhe que tinha alguém que amava e ela sorriu.
– O meu marido, o Pierre, diz que o amor nos faz cometer
loucuras.
– Ajuda-me – pediu Rover.
– Primeiro tens de te pôr bom, toma os remédios – aconselhou
Jacqueline, antes de se levantar e ir tratar de outro doente.
Nessa noite, o piloto juntou-se a Rod, Billy e Newt e revelou-lhes
a sua vontade, mas eles disseram o mesmo que a francesa.
– Mad man, estás um caco! – exclamou Billy.
– E não tens mão direita – lembrou Newt, o mais frio dos três.
Rover enrugou a testa, a que propósito é que viera aquele
comentário? Os três ingleses olharam uns para os outros, como se
hesitassem em dizer algo.
– O que foi? – insistiu o piloto.
Newt encolheu os ombros, Rod fez um aceno afirmativo com a
cabeça, mas foi Billy quem o esclareceu.
– Mad man, estamos a pensar no mesmo que tu, mas temos de
esperar.
Além de ter falado com Rover, a enfermeira Jacqueline também
trocara umas palavras com os outros. E contara-lhes mais do que
ao piloto. Havia pessoas prontas a ajudarem a fuga de certos
prisioneiros. Alguns judeus tinham conseguido escapar, mas só
porque na floresta haviam sido recolhidos por um carro.
– Ela mencionou um americano, chamado Fry, de Marselha –
sussurrou Rod. – E nós já lhe pedimos que o contactasse.
– Agora temos de aguardar – murmurou Billy.
– E tens de melhorar – avisou Newt. – Não te podemos levar
assim.
Uma fuga tinha de ser preparada com frieza, paciência,
inteligência e muita discrição, mas estar em boa forma física era
uma condição essencial para alguém arriscar a vida numa aposta
tão perigosa. Por mais solidários que os três marinheiros fossem,
não aprovariam uma fuga se as mazelas de Rover pudessem ser
um empecilho claro ao sucesso da empreitada.
– Mad man, salvaste-me a vida – disse Billy. – Quero que
venhas, mas antes tens de ganhar uns quilos.
Rover suspirou no escuro. Com as dores e os vómitos que tinha,
aumentar de peso seria complexo. Tomou dois dos comprimidos que
Jacqueline lhe dera e pensou em escrever uma carta. Carol
estudava literatura e sentir-se-ia mais perto dela se pedisse livros à
Cruz Vermelha, desses romances que eram como cebolas e faziam
chorar as meninas.
38
Lisboa, 26 a 28 de julho de 1940
«Na Europa é sempre guerra, em Lisboa é sempre festa!»
Michael considerou apropriado o pregão mais escutado na
capital portuguesa. Enquanto vários estados europeus continuavam
fustigados pelos nazis, Salazar organizara a Exposição do Mundo
Português, que ele e Carol visitavam naquele fim de tarde quente,
passeando pelos jardins em frente ao Palácio de Belém, onde
inúmeros pavilhões celebravam as glórias lusitanas, desde Afonso
Henriques, o primeiro rei, até ao presente Império, do Minho a
Timor. Alguns novos monumentos tinham sido inaugurados,
projetando uma ideia de paz e prosperidade em contraponto com o
abismo europeu.
– Salazar transformou Portugal num oásis – declarou Michael.
Carol fitou-o atentamente e ironizou: – É isso que escreves no
Philadelphia Times?
Ele não insistiu na fraude e desmontou o disfarce de jornalista.
Aliás, a sua verdadeira nacionalidade era inglesa, trabalhava para o
Foreign Office e salvar Otto Strasser fora uma missão secreta, que
não pudera partilhar.
– O Rover desconfiou de ti – recordou Carol.
– Tinha faro de soldado – elogiou Michael.
– Já não me lembro bem da cara dele... – queixou-se a minha
prima.
– Esta guerra matou-me vários amigos – contou ele.
A Inglaterra estava a ser bombardeada enquanto falavam, mas
pelo menos mantinham-se vivos, podiam continuar a lutar.
– O que vais fazer com Otto e Marcel? – perguntou ela.
Sem adiantar detalhes, Michael garantiu que ambos iriam deixar
Portugal o mais depressa possível.
– A Sara não vai descansar enquanto não trouxer a mãe e a avó
para cá – lembrou a minha prima.
– Melhor assim – afirmou Michael. Schlezinger andaria entretido
enquanto os ingleses safavam Otto e Marcel.
– Aprovas a decisão dela? – perguntou Carol.
– Que mal tem dormir com o coronel, se isso salvar a mãe e a
avó? – contrapôs o inglês.
– E se ela engravidar de um nazi? – indignou-se a minha prima.
Michael foi condescendente.
– Nem tu, nem ela, são tontas...
Carol engoliu em seco, pelos vistos ele sabia mais do que ela
julgava.
– O Rover falou-te sobre mim?
O inglês encolheu os ombros.
– Falou mais sobre a Polly. Reparaste no nervosismo dela,
quando o viu em Bordéus? – a minha prima inquietou-se, quando
ele lembrou que o piloto era um homem, como se isso explicasse
tudo. – Na última noite em Paris...
– Dormiram juntos? – espantou-se Carol.
– Dormir, não dormiram – brincou Michael. – A Polly é assim!
Portanto, Rover mentira-lhe. Sentiu vontade de chorar, mas
também algo a crescer. Raiva vingativa.
– O que vais fazer por cá? – perguntou Michael, que lhe cedera
um quarto, pois Carol recusara ir para casa do pai. – Podias ajudar
a Cruz Vermelha.
– Não sou enfermeira! – protestou ela.
O inglês disse-lhe que os soldados ingleses presos em França
pediam livros constantemente. Sendo ela estudante de literatura,
era a pessoa certa para ajudar. Mas, como Carol permaneceu
silenciosa, em vez de insistir ele convidou-a para jantar no Hotel
Palácio, no Estoril.
A minha prima aceitou e, às nove da noite, ficou
verdadeiramente surpreendida, tal era o frenesim inesperado do
local. Viam-se mulheres glamorosas e homens aprumados, todos
estrangeiros e de pele bronzeada. No final do excelente repasto,
foram para uma segunda sala, onde uma banda tocava. Com a
ajuda de uns gins tónicos e de Michael, que dançava e contava
piadas divertidas, Carol sentiu-se bem até às duas da manhã, hora
a que abandonaram o hotel. Porém e à saída, não evitaram um
susto, quando um avião alemão rasou o edifício, recordando-lhe os
Stukas.
– É só para assustar... – garantiu Michael, abraçando-a.
Quase sem ela dar por isso, beijou-a e a minha prima deixou-se
embalar até à cama dele, em Lisboa, onde já nua se arqueou, como
Edite, em Vilar Formoso.
*
– Vi-te com a francesa, no sofá da pensão da fronteira –
murmurou Carol, no dia seguinte de manhã.
– Não te ouvi – replicou ele, nada embaraçado.
– Querias estar comigo nessa noite, mas, como não aceitei,
chamaste-a sem hesitar! – acusou ela.
Ele manteve-se calado, observando o teto do quarto.
– As mulheres não são importantes para ti, pois não? Não
perdes tempo a pensar em cada uma delas... – disse Carol.
Michael nem reagiu, como se o tema não lhe interessasse, e a
minha prima percebeu que, na intimidade, ele era muito diferente de
Rover. Na cama, sentira-se incompleta. Ele não procurara perceber
se estava a gostar, não reparara em como revirava os olhos quando
atingia o prazer, nos arrepios que a percorriam quando lhe tocava
no pescoço, no quanto gostava que a beijassem nos mamilos. Era
demasiado sôfrego e em momento algum ela se sentira amada,
como por Rover. Teve saudades da forma como este lhe agarrava
nos cabelos com a sua única mão, enquanto a possuía por trás;
como se deitava de costas e a colocava em cima dele, só para lhe
proporcionar mais prazer. Irritou-a o egoísmo de Michael, a direção
totalitária que impunha, os movimentos que lhe exigia para o
satisfazer, a incapacidade para falar sobre o que tinham acabado de
viver.
– A que horas nos encontramos? – perguntou Carol.
A transformação de Michael foi imediata, a logística é que o
interessava. Iriam almoçar à Pastelaria Suíça, à uma e meia, depois
seguiam para a Cruz Vermelha e à noite rumariam ao divertido
Casino Estoril. Dito isto, levantou-se, tomou banho, vestiu-se e
despediu-se, tinha de ir trabalhar.
Carol deixou-se ficar na cama. Nunca o iria amar, como amara
Rover. Desanimada, só uma hora depois montou a Hirondelle e
pedalou da Lapa até ao cabeleireiro que frequentara com a mãe, na
Avenida da Liberdade. Cortou o cabelo curto, na moda em Paris e
agora também em Lisboa, intitulado penteado «à refugiada», tantas
eram as portuguesas que o exigiam, imitando as estrangeiras para
se sentirem modernas.
De regresso à avenida, uma onda de nostalgia invadiu-a. Teve
saudades da Sorbonne, da residencial, das boulangeries do Saint-
Germain, mas também do leiteiro, das freiras e dos professores.
Lembrou-se dos companheiros de viagem. Por onde andariam
Katzenberg, Viktor, Gertrud, Monika? E Edite permaneceria em
Lisboa? Pensou em procurar Augusto, o português que conhecera
em Vilar Formoso, mas olhou para o relógio e rumou ao Rossio.
Nos passeios e até lá chegar, viu centenas de refugiados,
esperando o seu momento de partida. Já na praça, quando se
sentou na esplanada, Michael disse-lhe que as pensões e os hotéis
de Lisboa estavam a abarrotar e havia muitos lisboetas a alugar
quartos, tanta era a procura. Mas, de repente, umas mãos taparam-
lhe os olhos por trás e só identificou tratar-se de uma mulher pelos
anéis.
– Cárol! Minha querida!
Aquela voz inconfundível não permitiu dúvidas, era Polly. A
americana abraçou-a, como se fossem grandes amigas. Porém e
como de costume, ao almoço só falou de si própria. Em Pau, dera
assistência aos prisioneiros ingleses até se sentir tão cansada e
frustrada (não existiam homens de jeito e os franceses, já se sabia,
não prestavam) que decidira ir a Barcelona divertir-se à grande.
Infelizmente, não a haviam deixado reentrar em França e fora
obrigada a viajar para Portugal.
– A Seguridad andava fisgada em mim, sempre a desconfiarem
de que era uma espia! – desabafou Polly, que, em Lisboa, se
apresentara na Cruz Vermelha, onde esperava, entediada, o dia de
regresso às batalhas.
– Não ias para o Egipto? – perguntou Michael.
Polly confirmou o desejo de se juntar às tropas inglesas no Norte
de África.
– Sou eu e o Rommel, que foi colocado lá para comandar o
Africa Korps! – Porém, não obtivera ainda a ordem de partida.
– A Carol quer colaborar, falei-lhe na Casa Verde, nas cartas dos
prisioneiros – afirmou Michael.
– Ler cartas? Que maçada! – protestou Polly.
A minha prima sentiu-se desiludida, pois a amiga ainda não
notara o seu novo penteado.
– Fui ao cabeleireiro, gostas? – perguntou.
A americana franziu a testa.
– Imitar as francesas é muito provinciano! Este país é mesmo
atrasado, não achas, Michael?
Este riu-se, o que irritou Carol, já enervada por ele também não
ter reparado nela. Um «fica-te bem» chegaria.
– Sabes como é que chamam à Pastelaria Suíça? – perguntou o
inglês, adiantando de imediato a resposta: – Bompernasse. Os
portugueses passam aqui só para ver as pernas das refugiadas!
Polly soltou um esgar de asco. Lisboa era miserável. Os
portugueses escarravam, os cães aliviavam-se, as crianças
andavam descalças e pediam esmolas.
– Um inferno!
O instinto patriótico de Carol enxofrou-se com aquelas críticas.
Portugal não era assim tão mau, o povo era simpático e hospitaleiro,
recebia bem os refugiados, não havia guerra.
Irritada, Polly interrompeu-a: – Nenhum português me convidou
para jantar!
Como sempre, era ela o princípio e o fim do mundo. Farta de a
ouvir, Carol levantou-se da mesa abruptamente.
– Aonde vais? – surpreendeu-se Michael.
A minha prima mentiu, afinal ia visitar o pai, não podia estar em
Lisboa sem lhe dizer nada. Apressada, combinou ir ter com Polly, no
dia seguinte, à sede da Cruz Vermelha.
– Não esperes por mim, vou chegar tarde – disparou a Michael.
Ao afastar-se, ouviu claramente a pergunta da americana.
– Dormiste com ela?
Não percebeu se Michael a tinha esclarecido, mas também não
se importou. Se ele quisesse dormir com Polly, ou com qualquer
outra mulher, era-lhe indiferente. Não se encantara.
39
Lisboa, 28 e 29 de julho de 1940
Ainda enervada com as opiniões de Polly, Carol pedalou na
Hirondelle até ao Bairro Alto, onde funcionava a Comassis, a
organização portuguesa dirigida por Augusto.
Ao chegar, viu sair de lá o tenente Marrano, seguido de dois
polícias fardados, que escoltavam uma campónia de lenço à
cabeça. Como o agente da PVDE nem a cumprimentou, a minha
prima ignorou-o e entrou no edifício, estacando de imediato.
Sentado num banco, estava o músico Katzenberg e o coração dela
encheu-se de alegria.
– Professor, que bom vê-lo são e salvo!
Amargurado, este queixou-se. Não obtivera o visto de
permanência em Portugal e a PVDE acabara de lhe dizer que seria
enviado para a Alemanha, devido ao que se passara.
– Viu a senhora que saiu presa? Ia casar com ela.
O matrimónio civil com uma portuguesa era a única forma que
lhe restava para permanecer no país, e convencera aquela saloia,
que conhecera à porta da Comassis. Combinara com ela ir ao
Governo Civil no dia seguinte, mas agora ficara sem esposa e sem
dinheiro.
– Bem que me avisaram. É uma burlona, já casou com três
estrangeiros!
Carol conteve uma vontade de rir quase irreprimível.
– Já falou com o Augusto?
Katzenberg baixou a cabeça, envergonhado.
– Foi quem me disse que não fosse na conversa dela – depois,
murmurou: – A Carol é que me podia ajudar...
– Esteja descansado – afirmou ela.
Com um sorriso a nascer-lhe nos lábios, o professor
entusiasmou-se: – Aceita casar comigo?
A minha prima empalideceu. A brincadeira de Paris
transformara-se numa proposta séria, que obviamente teria de
negar!
– A Carol conhece-me, nunca a obrigaria a nada, mas se
casássemos, eu podia ficar em Portugal – justificou-se o músico.
Não tinha amigos nem família e vivia num quarto que já não
conseguia pagar. Casado com uma portuguesa, poderia empregar-
se numa escola de música. – Seria apenas uma formalidade, depois
divorciávamo-nos.
– Professor, em Portugal o divórcio é proibido – explicou ela.
Katzenberg acenou com a cabeça e mais não disse, era
demasiado bondoso para a fazer sentir-se mal.
– Deixe-me falar com o Augusto, já volto! – exclamou Carol.
Corria já pelo corredor, quando um absurdo pensamento a
assaltou. E se aceitasse a proposta de Katzenberg? Como seu
marido, teria de autorizá-la a ir para França acabar os estudos, mas
certamente o músico não lhe negaria essa retribuição de favor.
Porque não fazer uma boa ação, que o salvaria de uma pavorosa
desgraça? Explicou a ideia a Augusto, mas o dirigente da Comassis
franziu a testa.
– Que idade tem? – perante a resposta dela, vinte e dois,
acrescentou que já não precisava de autorização dos pais. – Não
sei é se a PVDE vai nisso, quer expulsar o imprudente professor.
– Conheci-o em Paris, é uma pessoa boa. Se o mandarem de
volta para a Alemanha, vai ser preso – justificou-se Carol.
– Ou pior... – murmurou Augusto.
– Onde casamos? O que é preciso? – perguntou a minha prima.
O dirigente da Comassis explicou-lhe os procedimentos e
combinaram o matrimónio para a manhã seguinte. Subitamente
eufórica com a irrazoável mas bondosa decisão que tomara, Carol
rumou à entrada do edifício, onde Katzenberg se mantinha sentado
no banco, de cabeça baixa.
– Professor, traga os documentos amanhã, encontramo-nos aqui
às nove e casamos às dez!
Os olhos do músico brilharam, primeiro de espanto e depois de
contentamento. Comovido, abraçou-a, mas logo recuou,
atrapalhado, pois não queria dar uma impressão errada. Também
embaraçada, ela pediu-lhe escusa, tinha outro assunto essencial a
tratar com Augusto e fugiu até ao gabinete deste, onde perguntou
pela mãe e pela avó de Sara.
– Já pagaram e esperam lugar num comboio, em Metz.
Sara e o irmão viriam também para Lisboa, pois a PVDE dera-
lhes autorização para se instalarem no Hotel Palácio, no Estoril,
contou Augusto, olhando de forma suspeita para a minha prima.
– Foi o coronel Schlezinger quem mexeu os cordelinhos...
Carol manteve-se silenciosa, sabia as implicações daquela
inesperada e súbita alteração. A amiga ia ceder.
– Sabe onde está o Marcel? – perguntou ele.
A minha prima não podia revelar a verdade, mas também não
queria mentir.
– O Michael é que trata disso.
Augusto semicerrou os olhos e acusou Michael de ser um espião
inglês que escondera Marcel no Norte de Portugal, na companhia de
um tal Otto Strasser, procurado pela Gestapo.
– Cuidado!
Carol sentiu uma enorme angústia. Se até aquele dirigente da
Comassis sabia onde Otto e Marcel estavam, os avós dela corriam
perigo! Despediu-se à pressa e pedalou na Hirondelle sem
descanso, dirigindo-se a casa de Michael.
Como este ainda não chegara, decidiu tomar um banho
revigorante e foi dentro de água que ouviu a porta abrir. Pouco
depois, o inglês entrou na casa de banho com um enorme ramo na
mão.
– A que devo a honra? – perguntou ela.
– Preciso de um motivo para dar flores à minha noiva?
Carol sorriu, era o segundo pedido de casamento desse dia,
embora a este não o fosse aceitar.
– Temos de falar...
Entusiasmado, o inglês despiu-se à pressa e a minha prima
notou a ereção dele. Sem vontade, ainda se chegou para o fundo da
banheira, enquanto se mostrava assustada com o perigo que os
avós corriam. Porém, já nu e cheio de confiança, Michael piscou-lhe
o olho, antes de entrar na água.
– Vamos depois de amanhã para o Norte – Otto Strasser ia
abandonar Portugal num barco, partindo de Leixões. – Assunto
resolvido.
– E o Marcel? – perguntou a minha prima.
– Escondemo-lo em Lisboa até a mulher e a mãe chegarem.
Carol respirou fundo, as coisas começavam a resolver-se.
– Podemos passar na Figueira da Foz e visitar a Sara?
Michael mantinha-se de pé na banheira, à frente dela.
– Só se fores uma menina bonita...
*
Por gratidão, Carol beijou-o onde ele desejava, mas na manhã
seguinte já nem se lembrava do que lhe fizera, quando, por volta
das onze da manhã, se casou com o professor Katzenberg, no
Governo Civil de Lisboa, tendo como testemunhas Augusto e o
secretário deste na Comassis.
Nervoso, o músico comia as palavras, mas Carol sentiu apenas
pressa, queria despachar-se e começar a trabalhar na Casa Verde.
Talvez a literatura salvasse a sua alma. Embora fosse disparatado,
sentia-se uma traidora, semelhante à Madame Bovary de Flaubert,
que enganava o marido com o amante.
– Quer que vá consigo? – perguntou o amável professor.
Até ao Campo Grande era um trajeto longo, mas ele tanto
insistiu que Carol decidiu levá-lo na grelha da Hirondelle. Enquanto
fazia um esforço sobre-humano para pedalar, pois Katzenberg era
bastante pesado, reparou que muitos os observavam,
especialmente ao subirem a Avenida da Liberdade. Devia ser
bizarro o par que formavam, ela à frente, de saia e cabelo curto, a
pedalar esbaforida, carregando um enorme homem vestido com um
casacão cinzento deveras roçado, de barbas longas e ar de palhaço
triste.
Meia hora depois, bateram à porta da Casa Verde, aberta por
Miss Carlton, uma senhora alta e franzina que se apresentou como
amante de letras e de música, encantando de imediato o alemão,
com quem a proprietária da casa também simpatizou.
De andar desengonçado e óculos de aros grandes, Miss Carlton
lembrou a Carol uma cegonha e recebeu-os com o inevitável chá.
Numa voz pausada, admitiu que o excesso de leituras lhe atrofiara a
visão, pois sentia dificuldade em descodificar as letras miúdas.
Assim, destinou a Carol as caligrafias mais complexas, enquanto
sugeria ao professor de música, que não lia bem o inglês, um breve
recital num piano de cauda, estacionado ao canto da sala.
– Piores que médicos – resmungou pouco depois, entregando a
Carol mais um envelope originário de um campo perto dos Pirenéus,
donde provinha a maioria das cartas, ao mesmo tempo que sorria
ao professor, por este escolher Beethoven.
Os autores das cartas haviam sido aprisionados em França, no
golfo da Biscaia ou no Mediterrâneo. Alguns estavam fortemente
abatidos, produzindo frases penosas de se lerem. Contudo, a
maioria mostrava um moral resistente e até um refinado sentido de
humor, que provocou risos nos três, bem como a conclusão de que,
com homens assim, o futuro da Inglaterra estava garantido!
Quanto aos pedidos, alguns eram óbvios mas inexequíveis:
«Mandem-nos armas ou venenos para matar os boches ou os
franceses que guardam os campos.» Outros imploravam o envio de
passatempos, como palavras cruzadas ou baralhos de cartas; mas
também canetas, isqueiros, tabaco, jornais e revistas. Só um
número reduzido pedia livros.
A meio da tarde, na curta lista compilada por Carol, abundavam
os policiais, sendo raros os romances solicitados. Foi então que um
novo pedido a petrificou: Quo Vadis...
Carol já tremia das mãos quando leu a frase seguinte: «Nunca o
terminei e queria chegar ao fim.»
O cérebro da minha prima bloqueou.
– Que se passa? – inquiriu a cegonha. – Está muito pálida.
– O envelope desta carta? – balbuciou Carol.
Miss Carlton entrego-lho e ela confirmou o nome do prisioneiro,
enquanto um curioso Katzenberg suspendia os sons do piano.
A cegonha perguntou: – Conhece-lo?
Carol olhou para Katzenberg, como que à procura de uma bóia
de salvação onde se pudesse agarrar. Rover morrera, os nazis
tinham-no fuzilado em Hendaia. Ou não? Não vira o corpo dele
crivado de balas. Seria possível que estivesse vivo e num campo de
prisioneiros? Balbuciou ao músico: – Lembra-se de Rover?
– O seu namorado? – perguntou um aflito Katzenberg, que
parecia ter sido apanhado a fazer uma grande asneira.
– Situações dessas são comuns – afirmou a cegonha. – Para as
mulheres é terrível, casam com outro e afinal o marido está vivo!
O professor de música levou as mãos à cabeça. Desposara
nessa manhã Carol e agora o namorado reaparecia! Era o cúmulo
do azar, mas o casamento fora apenas um expediente, garantiu o
bondoso homem.
– Rover estar vivo é uma notícia fantástica!
Atarantada, a minha prima pegou na carta e no envelope e pediu
a Miss Carlton que hospedasse Katzenberg por uns dias, pois tinha
de ir para fora de Lisboa.
– Não se anime, olhe que ele vai ficar preso até ao fim da guerra!
– avisou a cegonha.
40
Lisboa, 29 de julho a 7 de agosto de 1940
Como na Embaixada inglesa lhe disseram que Michael estava
em Sintra, Carol rumou à Cruz Vermelha, pois recordara-se de que
Polly visitara os campos de prisioneiros.
– O Rover está vivo? – perguntou ao vê-la.
A americana já estava alcoolizada às sete da tarde, mas
confirmou que o encontrara em Gurs, num campo vigiado pelos
franceses.
– Estava mais magro. Levou um tiro.
– Falaste com ele? – inquiriu a minha prima.
– Só me deixavam entregar remédios – mentiu Polly.
De rompante, Carol disparou a pergunta que lhe pressionava o
coração: – O Michael sabe disto?
Polly revirou os olhos:
– Desde que chegou a Lisboa.
– E pediu-te que não me contasses? – questionou Carol.
– Estava interessado em ti... – justificou a americana.
– Não me disse nada só para me levar para a cama? –
enfureceu-se a minha prima.
Polly revirou novamente os olhos. O amigo era assim, mas
ajudava a família da Sara, não se devia esquecer disso!
Nunca iria perceber a dor e a raiva que aquela mentira
provocava em Carol, em cuja cabeça uma última dúvida ainda
bailava. Michael tinha-lhe dito que Rover e Polly se haviam amado
em Paris.
– Quem me dera! – bufou a enfermeira.
Sujar a reputação de Rover fora outra mentira, com o mesmo
objetivo. Sem hesitar, Carol dirigiu-se para casa do inglês, disposta
a colocar tudo em pratos limpos.
– És um aldrabão! – disparou, mal o viu.
Como sempre fazem os infiéis ou os trapaceiros, Michael negou,
esperando que a informação na posse dela fosse insuficiente. Carol
insistiu, Polly vira o piloto no Sul de França, mas não lhe contara
nada a pedido de Michael. Porém, este abanou a cabeça: a
americana não tinha a certeza. Existiam muitos ingleses presos
nessa região francesa.
– Não te convenças já! – avisou Michael.
Quando a minha prima mostrou a carta assinada pelo piloto,
vinda de Gurs, ele contrapôs que já enviara, através do Foreign
Office, um pedido especial de verificação de identidade de um
prisioneiro, cuja resposta ainda não chegara.
No coração da minha prima formou-se uma pedra de gelo.
– És igual ao meu pai! Mentes às mulheres!
Esperto, Michael tentou recuperar a vantagem perdida e jurou
que estava apaixonado! Como ela ainda pensava em Rover, temera
perdê-la!
– Juro-te por Deus, queria ter a certeza, não aguento ver-te
sofrer de novo!
– Claro – ironizou Carol.
– Achas que precisava da tua ajuda? – interrogou o inglês.
Desde Paris, o seu objetivo fora safar Otto Strasser, mas ajudara
os filhos de Marcel só porque eram amigos dela. Encantara-se.
Era mesmo bom naquilo, mas a minha prima não acreditou.
– Só te enganas a ti... Em Vilar Formoso, estavas montado na
Edite! E a Polly não dormiu com o Rover em Paris. Foi mais uma
mentira para me convenceres! – acusou Carol.
– A mim jurou que sim! – enfureceu-se Michael.
A minha prima chamou-lhe trapaceiro refinado. Mentira a todos,
apresentando-se como jornalista americano, do Philadelphia Times,
um jornal que afinal não existia! Era um impostor, jamais seria capaz
de o amar e não queria continuar a viver em casa dele! Orgulhosa e
decidida, dirigiu-se ao quarto e já estava a tirar a roupa do armário,
quando Michael reapareceu.
– Casas com o Katzenberg e eu é que sou mentiroso?
Carol concedeu-lhe razão, devia ter ter-lhe contado. Na véspera,
perante o desespero do professor, decidira casar, a única forma de
salvar o músico da expulsão do país.
– Escondeste-o na Casa Verde? – perguntou Michael.
A minha prima olhou-o, preocupada. Teria sido seguida? Porém,
o inglês encolheu os ombros e disse que Katzenberg não
interessava à Gestapo. Depois, apontou para as roupas, pousadas
em cima da cama.
– Não vás hoje. Amanhã, partimos e não posso ir sozinho à
quinta dos teus avós.
Michael sabia quais as teclas a tocar nos momentos certos.
Carol não podia recusar a viagem e voltou a colocar as roupas no
armário. E, na manhã seguinte, rumou com ele para o Minho, onde
os avós se despediram dos dois refugiados sem perguntas.
Durante essa noite, o Citroën azul acelerou para o Porto com
quatro passageiros e, em Leixões, Otto embarcou ao nascer do dia
num cargueiro inglês que transportava conservas, rumo às
Bermudas.
– Que alívio – suspirou Carol, quando viu o barco zarpar. Nunca
gostara daquele nazi arrependido.
– E agora? – perguntou Marcel.
– A sua mulher e a sua mãe estão prestes a sair de França –
informou Michael. Até elas chegarem, o pai de Sara e François
ficaria escondido em Lisboa, também em casa de Miss Carlton.
*
Dias depois destes eventos, mais precisamente a 7 de agosto de
1940, Carol apareceu no escritório da companhia de navegação
onde eu trabalhava. Eram onze da manhã quando pediu para falar
comigo. Surpreendido, recebi-a no meu gabinete e cumprimentámo-
nos com cerimónia, pois não nos víamos há muito tempo. Depois,
sentou-se e desfiou os acontecimentos decorridos desde junho, com
uma fluência invulgar. Era uma magnífica narradora, que me
fascinou em poucos minutos com os pormenores da sua viagem e
os comportamentos dos seus companheiros de aventura.
Entusiasmei-me com as tentativas de despistar a Gestapo, em
Paris; emocionei-me com as mortes de Madre Mary e de
Mademoiselle Laffitte; encantei-me com a beleza de Sara; zanguei-
me com a maldade de Schlezinger; ri-me com o vernáculo de Edite;
e entristeci-me com a morte de Chamberlain, o gato cego.
Ao longo de um dia inteiro, Carol foi-me descrevendo a sua
odisseia sem deixar nada ao acaso.
– Não te estou a maçar? – perguntava de hora a hora, sabendo
perfeitamente que o peixe mordera o isco.
Que surpresa tremenda tive quando soube que Rover afinal
estava vivo! Ela fora brilhante, chorara ao descrever as suas
angústias em Hendaia e, durante talvez três horas, julguei-o
fuzilado, um fantasma que só regressava à narrativa durante os
sonhos de Carol, alguns bastante eróticos.
Naturalmente, também senti dúvidas. Anne teria tomado uma
boa decisão ao obrigar Marcel e Otto a deixarem Estrasburgo à
pressa? E a bela Sara, tão distante dos homens, mas que exibira
um peito inesquecível a um coronel nazi, que pensar dela? Por fim,
havia Michael, sobre quem abro um parêntese essencial.
Alguns meses após esta súbita aparição de Carol no meu
escritório, Michael viria a tornar-se no meu melhor amigo e mentor
da espionagem que ambos praticámos em Lisboa, durante os anos
da guerra. Porém, uma coisa tenho de reconhecer: era tramado com
as mulheres. Não perdia uma oportunidade de as seduzir e várias
das senhoras com quem dormi nesses tempos já o haviam provado
antes. Por isso, não me espanta que tivesse mantido Carol na
ignorância sobre a sobrevivência de Rover.
É óbvio que naquele dia não pude dizer isso à minha prima, pois
ainda não conhecia Michael. Mas, depois do que vivi com ele, não
consigo aboná-lo em assuntos de saias. Era um pirata e, além
disso, trabalhava para o MI6, os serviços secretos ingleses, passava
o tempo a enganar os nazis em jogos duplos que a guerra impunha
em Lisboa. Sim, Michael mentiu a Carol, mas, se comparar essa
com as muitas outras falsidades que propagou, é tão pequena que
quase não merece condenação. A favor do meu amigo, invoco um
último argumento: Carol era bonita e Michael virava o mundo do
avesso por uma beldade.
Mas voltemos ao início de agosto: de regresso a Lisboa e ainda
muito zangada com Michael, a minha prima decidira mudar-se para
casa do pai. Porém, em poucos dias verificou que a permanência
por lá era impossível. O progenitor casara-se com uma das muitas
«noivas», que ascendera ao terrível estatuto de solitária esposa de
um mulherengo. Quezilenta e amarga, a despeitada mulher
infernizou-lhe a cabeça, até que Carol se rendeu e veio pedir-me
hospedagem, pois era o único familiar lisboeta que lhe restava.
Em minha casa, que também era na Estrela, havia um quarto
sem uso e convidei-a a ficar. Depois do jantar, avançou um segundo
pedido: precisava urgentemente de cinco bilhetes de barco para
Nova Iorque. Prometi-lhe que ia tentar, mas os navios estavam à
cunha, com os preços caríssimos.
– Jack, tenho a certeza de que consegues! – declarou Carol. –
Dinheiro não falta, o Marcel é rico! Mas eles têm de partir depressa,
logo que a mãe e a avó de Sara cheguem a Lisboa!
41
Lisboa, 16 de agosto de 1940
– O comboio chega a Lisboa daqui a cinco dias – informou um
sorridente e bem-cheiroso coronel Schlezinger.
Carol sempre o considerara um homem bonito, que, noutras
circunstâncias, seria um excelente partido, mas voltou a assaltá-la a
memória perturbadora do tiro na nuca de Mademoiselle Laffitte e o
que fizera a Rover. Por mais que o nazi a tentasse esconder, por
detrás da água-de-colónia morava uma perversidade maligna.
Sara também estava consciente disso e, quanto mais se
aproximava a hora de se entregar, mais sofria. A rapariga confiante
que chocalhara as convicções do nazi com a exibição do seu
magnífico peito, estava a perder a fé em si mesma. Oportunidades
para se dar não haviam faltado, fosse na Figueira da Foz, fosse já
ali, na suíte do Hotel Palácio, onde os três se encontravam. Porém,
sempre adiara o momento, em parte por estratégia, só o faria
quando a mãe e a avó já estivessem em Portugal; em parte por
temer a intimidade com Schlezinger.
Ao contrário do que podia transparecer dos insultos de François,
que a apelidava de galdéria ou lhe chamava Edite, dizendo-a igual à
prostituta francesa, Sara era o oposto disso. A iniciação ao sexo
resumira-se a um fugaz episódio com um amigo de infância,
responsável por um pequeno trauma: o parceiro cruel apontara-lhe
falta de jeito. Aflita, fechara-se numa carapaça e aquilo que todos,
na universidade ou em festas, pensavam ser sobranceria e
convencimento, era apenas a distância essencial para se acautelar
contra novas agressões masculinas.
A inacessibilidade tornara-se o seu escudo protetor e as naturais
pulsões da carne eram travadas pelo medo antecipatório de mais
sofrimento. Sara queria investigar e saborear a anatomia masculina,
como Carol fazia. Contudo, um permanente receio de se magoar
travava a vasta procura que lhe era dirigida.
A única motivação capaz de vencer esse fosso era a salvação da
mãe e da avó, mas, embora a convivência recente com o coronel a
tivesse amaciado, não se ia entregar porque o desejasse. A beleza
física do alemão e os presentes que este lhe dera, brincos, na
Figueira, e sapatos, em Lisboa, não haviam sido suficientes para a
desbloquear. Sara valorizava os salamaleques e mimos, mas o
terror da proximidade física não a abandonara.
Nem os conselhos de Carol a tinham acalmado.
– Bebe três copos de vinho antes – sugerira a minha prima na
véspera, recordando os avisos de Madre Mary, a superiora do Saint-
Sulpice. – Ficas com coragem. O resto faz ele.
Porém, naquele quarto de hotel e apenas na presença da minha
prima e de Schlezinger, Sara continuava com a imaginação
prisioneira de uma imagem aterradora, onde se via na cama e nua,
com o alemão em cima.
– Sente-se bem? – perguntou o nazi, perante a palidez dela.
– Claro – respondeu a amiga de Carol, que como todos os
humanos aprendera cedo a arte de mentir. – Sabem onde está o
François?
Schlezinger tossiu, enervado. Dera instruções aos ajudantes
para impedirem o aparecimento do rapaz naquela suíte, pois este
tornara-se cada vez mais hostil à irmã.
– Está no quarto dele. Trouxe-lhe um livro – disse Carol.
Acabara de ler, em inglês, um romance que considerara
fantástico, escrito recentemente por um autor americano chamado
Hemingway, cujo título era Por Quem os Sinos Dobram e que
versava sobre a Guerra Civil de Espanha. Porém, a amiga nem a
ouviu.
– O comboio vai ser selado em Metz – explicou Schlezinger,
também na esperança de captar a atenção da filha de Marcel.
– Selado? – repetiu a minha prima, intrigada.
Por serem judeus, os viajantes seriam colocados nas carruagens
na cidade de partida, donde não poderiam sair em nenhuma
circunstância ou estação. Era uma providência para evitar fugas.
– Só é desselado em Lisboa – disse o coronel.
– A minha mãe não é judia – protestou Sara.
Schlezinger forçou um sorriso, o reparo incomodara-o.
– Já mo disse várias vezes. Mas é a única forma de vir
juntamente com a sua avó, que é judia.
Numa tentativa vã de se acalmar, a irmã de François encheu o
peito de ar várias vezes, o que causou uma imediata perturbação no
coronel, que cruzou e descruzou as pernas, nervoso, decerto
imaginando o momento em que beijaria aqueles espantosos seios.
– Virei ao hotel na véspera, almoçar consigo – declarou ele. Em
Vilar Formoso, os passageiros seriam examinados pela PVDE, mas
o tenente Marrano só autorizaria a partida do comboio para Lisboa
após um telefonema. – Meu.
A ameaça implícita era óbvia: se Sara não se desse, o comboio
voltava para trás. Naturalmente, a visada sentiu-se insegura.
– Podes ir a Vilar Formoso? – perguntou.
– Claro. Vou com o Augusto, da Comassis – respondeu a minha
prima. Falara com o dirigente da organização judaica nessa manhã,
antes de pedalar pela Marginal até ao Estoril na sua Hirondelle.
Adorava aquela estrada inaugurada há pouco tempo, mais uma obra
de Duarte Pacheco, o ministro das Obras Públicas de Salazar. –
Telefono-te de lá, a confirmar que estão bem.
Furibundo, Schlezinger semicerrou os olhos e decidiu mostrar
que tinha a faca, mas também o queijo, na mão.
– O seu namorado está preso em França – afirmou sem pré-
aviso.
Havia naquela frase uma inesperada fúria contra ela, mas Carol
ripostou de imediato. Lera uma carta de Rover e tivera uma enorme
surpresa.
– Julguei que o tinha mandado fuzilar.
Schlezinger não se enxofrou: – Tem-me em má conta. Devia
recordar-se de Paris.
Quando a minha prima afirmou terem sido os alemães a disparar
primeiro, o coronel defendeu que o haviam feito contra um soldado
inglês, país com quem estavam em guerra.
– Rover foi ferido pelos seus homens – acusou Carol.
O coronel surpreendeu-a: o piloto levara um tiro porque se
metera à frente de um compatriota, que salvara da morte.
– Um verdadeiro herói, altruísta e generoso.
Carol sentiu-se ao mesmo tempo orgulhosa e aflita. Rover
sempre tivera um instinto suicida.
– Onde o atingiram?
– Na barriga – murmurou Schlezinger, que dera ordem aos
médicos para operarem o ferido, esvaído em sangue. Porém, após
esta subtil manifestação de civilidade, lavrou mais uma ameaça
clara. – Ele gostará de saber que se enamorou de outro inglês?
Carol paralisou, mas sem perder a compostura, nem a lucidez. A
Gestapo tinha facilidade em fazer chegar a Gurs a informação sobre
ela e Michael, portanto era tempo de uma distração. Sorriu ao
alemão e forçou um tom divertido: – As mulheres, quando se
encantam, são capazes de tudo! A Sara também e é muito mais
bonita do que eu!
A amiga protestou:
– Não te subestimes...
De súbito animado, o coronel pegou na deixa e garantiu que na
Europa inteira não existia uma mulher mais bela do que Sara.
Sem hesitar, Carol ofereceu-lhe um conselho, devia trazer uma
garrafa de champanhe para o almoço com a amiga!
– Uma vez, numa festa, bebemos tanto que nem sei o que
fizemos!
O inteligente nazi, apesar de enciumado com o que intuiu,
agradou-se por Carol colocar Sara no trilho certo.
– Claro! Será uma tarde de festa!
Como que contagiada por esta excitação forçada, a filha de
Marcel e Anne entusiasmou-se e garantiu que ia beber com gosto!
O coronel sorriu-lhe, muito agradado, mas não estava à espera do
relambório que se seguiu.
– Tem é de afastar o meu irmão, para ele não me insultar, passa
a vida a chamar-me vaca e puta! – indignou-se Sara. – O François
só pensa em rabos e goza-me quando me vê na banheira, diz que
tenho umas tetas grandes e que sou uma desavergonhada. Isso não
pode acontecer, prometa-me!
Carol reprimiu uma gargalhada, perante os olhos esbugalhados
do coronel, espantado com tanto palavreado duvidoso. De repente,
deu-se conta de que o alemão só conhecia o lado suave e
sofisticado de Sara. A alma intempestiva e irada, capaz de atirar
facas ao irmão, nunca lhe fora revelada. Aquele encontro íntimo ia
ser deveras interessante...
42
Vilar Formoso e Lisboa, 20 de agosto de 1940
Pelas dezasseis horas e debaixo de uma infernal canícula, Carol
e Augusto esperavam, na estação ferroviária de Vilar Formoso, as
autorizações de entrada de três comboios, parados no desvio lateral
da linha que ligava Portugal a Espanha. Cada um com cinco
carruagens repletas de passageiros judeus, dois deles haviam
partido do Luxemburgo e o terceiro, de Metz.
– Coitados, estão a assar – protestou Carol.
Ela e o dirigente da Comassis encontravam-se debaixo do
telheiro da gare, mas os comboios permaneciam sob o sol
abrasador e mesmo com as janelas abertas podiam ver-se caras
suadas e arroxeadas, a tentarem respirar melhor.
– Porque os torturam assim? – perguntou a minha prima.
Augusto respondeu-lhe que seiscentos judeus se haviam
salvado, em vez de serem enviados para campos na Alemanha,
estando prestes a entrar em Portugal, donde poderiam partir para a
América do Norte ou do Sul.
– Temos de pensar assim, senão damos em doidos – justificou-
se aquele homem paciente e dedicado, que trouxera Carol no seu
carro desde Lisboa.
– O Marrano vai deixar-me entrar no comboio?
Augusto abanou a cabeça.
– Talvez a deixe ir até lá.
O tenente da PVDE estava também em Vilar Formoso, a
supervisionar o que apelidava de «operação especial», a mando do
Governo de Salazar. Quando, depois do almoço, conseguiram
finalmente falar com ele – mantivera-se fechado num gabinete,
mandando dizer que não os podia receber – revelara a sua
discordância. Por ele, não entrariam mais judeus em Portugal, mas
acordos eram acordos e este era com o Governo alemão, embora
estivessem ainda pendentes alguns «detalhes».
– Esta escumalha nem passaportes tem – resmungara Marrano.
Os três comboios, tal como Schlezinger explicara, haviam sido
selados nas estações de partida e os passageiros permaneciam nas
respetivas carruagens há vários dias. A grande maioria tinha
comprado a sua saída da Alemanha ou de França, pagando somas
exorbitantes aos nazis, mas isso não garantira uma viagem
agradável. E agora a PVDE mostrava-se implacável, verificando a
alegada perigosidade de certos «elementos».
Enquanto esperava, Carol só pensava em Sara. O almoço desta
com o coronel não fora agradável, descreveu-me dias depois a
minha prima. Primeiro, porque François tentara boicotar o que
suspeitava ir acontecer e chegara mesmo a entrar na suíte, o que
muito irritou Schlezinger, que fora ao corredor berrar com os
ajudantes, obrigando-os a expulsarem dali o rapaz.
– Eu bem avisei... – murmurara a filha de Marcel, já agoniada
com a comida, um vol au vent antecedido de uma vichyssoise, que
jurara nunca mais comer, tal o asco que lhe haviam causado.
Salvara-a o conselho de Carol, ou seja, o champanhe. Durante hora
e meia, bebeu uma flute atrás da outra, para ganhar coragem.
Quando o coronel finalmente a abraçou, já estava toldada, num
misto de euforia aterrada e descontrolo físico.
O alemão despiu-a sem pressas, mas também sem pausas, até
paralisar em êxtase, a apreciar-lhe as formas estrondosas, numa
volúpia antecipatória que assustou Sara.
– Os comboios vão entrar – informou Augusto.
O primeiro conjunto de carruagens mudou para a linha principal,
passando em frente deles, a caminho da Guarda. Dez minutos
depois, o segundo comboio imitou-o, e foi nessa altura que Carol
pediu ao tenente Marrano que procurasse Anne.
– Duvido de que o de Metz entre... – resmungou o PVDE, a olhar
para um relógio na parede. Quatro e meia e nenhum telefonema do
Estoril, pelos vistos os alemães queriam-nos de volta.
A minha prima engoliu em seco, na suíte do Palácio ainda não
havia fumo branco. Embora já nua, Sara resistia e correra à casa de
banho, tonta, enjoada e nervosa. O coronel irritava-se a cada
interrupção, não estava habituado a que uma mulher o afastasse,
fosse porque pagava ou porque mandava. Nem Carol nem Sara lhe
haviam perguntado se era casado, mas, se o tivessem feito, teriam
ficado a saber que não. Aliás, nas suas fantasias, Schlezinger
admitia desposar a filha de Anne e Marcel, tal era o seu fascínio.
Chegou a dizê-lo nessa tarde, já nu, exibindo o corpo ginasticado,
como era próprio dos homens da Gestapo, obrigados a muito
exercício físico.
– Vou casar consigo.
Estavam finalmente na cama e ela olhou para o membro ereto
dele, sentindo ao mesmo tempo repulsa e atração, até que o álcool
produziu efeito e o beijou. O coronel transfigurou-se, enlouquecido
de excitação, deixando-se levar pelo embalo doce da boca dela.
Mas de repente Sara parou, atacada por uma repugnância que ele
nunca notou. Para se afastar, deitou-se para trás, só que
Schlezinger tomou esse movimento como um convite e colocou-se
em cima dela, beijando-lhe os seios freneticamente.
A amiga de Carol começou a odiar-se nesse momento, não
devia sentir prazer, mas sentia-o, o que a torturava, por isso fechou
os olhos, esperando que o nazi se despachasse.
– Senhor tenente, veja as caras deles... – avisou Augusto, junto
ao terceiro comboio, para onde se deslocara, acompanhado por
Carol e Marrano. – Não comem há dias e estão desidratados!
– Diga-lhes adeus, vão voltar para a Alemanha, já passa das
cinco e o coronel não telefonou! – protestou o tenente da PVDE.
– Ali! – gritou Carol.
Anne estava à janela, mais magra e pálida, com o cabelo
desarranjado e o olhar triste. Carol chamou-a, esbracejando e
pedindo a Deus que Sara não se arrependesse agora.
No quarto do Hotel Palácio, o que tinha de acontecer aconteceu.
A filha de Anne e Marcel deixou-se ir e o coronel possuiu-a com o
tremendo entusiasmo masculino que carregava desde que a vira de
tronco nu, em Fuentes de Oñoro, enquanto ela flutuava numa névoa
de champanhe e pulsões contraditórias.
– Este vai embora, ai vai, vai – repetiu o tenente Marrano,
deveras agradado, pois assim conseguia impedir duzentos judeus
de entrarem em Portugal.
– Para onde? – perguntou Carol, já desesperada.
O PVDE barafustou: que fossem para Espanha, França,
Alemanha, queria lá saber, ali é que não ficavam!
– Posso fazer um telefonema? – pediu a minha prima.
Augusto, que nada sabia das promessas de Sara ao coronel,
ainda lhe perguntou com quem queria falar, mas Marrano, ao
corrente desse entendimento, apenas murmurou: – Mulheres...
Depois, mencionou um telefone na repartição dos correios, Carol
teria de lá ir, pois não podia usar o dele, no gabinete da PVDE. A
minha prima correu e ligou, mas Sara nunca recebeu o recado, pois
Schlezinger possuíra-a com uma força que a magoara, penetrando-
a sem parar e onde podia, imobilizando-a com os seus braços
musculados, envolvendo-lhe as ancas com as pernas, como uma
jiboia que a apertava. O mais revoltante para ela foi sentir que uma
parte do corpo não lhe obedecia e parecia gostar de ser dominada
com brutalidade.
– Olha, olha... – murmurou Marrano, contrariado.
Ouviu-se finalmente o telefone no gabinete dele a tocar, mas o
PVDE não mostrou vontade de o atender.
– Pode ser de Lisboa – lembrou Augusto.
– Pode ser – repetiu o tenente, demorando uma eternidade a
chegar à sua pequena sala. Quando regressou, encolheu os ombros
e limitou-se a dizer: – Azar, vão voltar para trás!
Carol fechou os olhos, não podia ser verdade, Sara não podia ter
recuado. De súbito, Marrano mudou a expressão do rosto e forçou
um sorriso.
– Estava a brincar consigo!
O sacana, pensou Carol, a humilhar-me! Afinal, a autorização de
Schlezinger chegara, o comboio de Metz podia entrar em Portugal, a
família de Marcel ia finalmente reunir-se, o sacrifício da amiga valera
a pena.
43
Lisboa, 21 de agosto de 1940
Na Estação de Santa Apolónia, a PVDE desselou finalmente o
comboio, permitindo que os passageiros desembarcassem. Após
agradecer a Augusto a ajuda prestada, Carol enfiou Anne e a sogra
desta num táxi e rumou ao hotel, no Estoril, onde Sara e François as
receberam com forte comoção.
As perguntas surgiram depressa, mas a minha prima temia nova
visita de Schlezinger e não revelou o esconderijo de Marcel.
– Está com os ingleses.
Sempre enervado, François relatou a dura viagem desde Paris.
No final da emocionante narrativa e como naquela família apenas
Anne conhecia a amizade entre o marido e Otto Strasser, ela
aproveitou uma ida de Carol à casa de banho para a abordar e lhe
perguntar: – Eles ainda estão juntos?
A minha prima admirou-a, Sara tinha a quem sair. O mesmo
nariz com o salto de ski no fim, a mesma harmonia entre as feições,
embora a amiga fosse mais bela do que a mãe.
– Otto Strasser já deixou Portugal – respondeu.
Anne pareceu aliviada, mas de súbito Sara apareceu e informou
a mãe de que François fora à receção pedir uma botija de água
quente, pois a avó estava com muitas dores nas costas.
Preocupada, Anne foi ter com a sogra, enquanto a minha prima
pedia pormenores à amiga sobre o encontro com Schlezinger.
– Tive de beber muito champanhe – confessou a filha de Marcel.
Carol adiantou que era melhor assim, ia esquecer-se depressa, o
que provocou um abanar de cabeça de Sara.
– Nunca... – murmurou esta. – Magoou-me.
– O quê? – indignou-se a minha prima.
– Foi estranho – contou a amiga. O coronel descontrolara-se e
no fim pedira desculpa. Mas ela odiava-se não por o ter feito, mas
por ter gostado.
– O teu corpo reagiu... – sugeriu Carol.
– Dói cá dentro – martirizou-se Sara.
A minha prima tentou suavizar-lhe o mal-estar: a mãe e a avó
estavam salvas! Em Vilar Formoso, afligira-se muito, a PVDE queria
mandar o comboio para trás!
– Isto mudou-me... – confessou a filha de Marcel.
Carol sentiu-a diferente, mas, não vendo receio nos olhos,
assustou-se.
– Gostaste dele?
– Não. Mas está apaixonado e vai voltar. Pediu-me em
casamento, quer falar com os meus pais...
– O quê? – espantou-se a minha prima.
– Até me dá pena – declarou Sara, com um sorriso triste.
Nesse momento, ouviram um esbaforido François a gritar, já
regressado à suíte. O rapaz alegava não ter sido o dinheiro pago
aos nazis que trouxera a avó e a mãe de França.
– O que estás a insinuar? – perguntou Anne.
François acusou a irmã de se ter vendido ao coronel alemão,
como uma reles prostituta. O relato, curto e inflamado, incluiu os
presentes e o almoço da véspera.
– Passaram a tarde no quarto! Vocês fechadas num comboio e
ela a beber champanhe e a fornicar com o nazi!
Anne, que sempre tivera fortes convicções católicas e levava
uma vida ponderada, perguntou à filha se o que ouvia era verdade.
E tanto insistiu que esta acabou por admitir. Prometera dar-se, se o
coronel autorizasse a vinda de Anne e da mãe de Marcel. Resistira
até ao limite, mas cedera quando soubera que as duas já estavam
em Vilar Formoso.
– O teu pai vai ficar furioso! – exaltou-se Anne.
Deitada no sofá, com a botija debaixo das costas, a avó Raquel
surpreendeu os presentes, quando exclamou que, para salvar a
mãe, se fosse preciso, dava-se a dez soldados nazis!
Ao ouvir esta declaração, Anne emudeceu, sentada numa
cadeira e já mais composta do que em Vilar Formoso, de cabelo
penteado e maquilhada. De pé, o impetuoso François saltitou de um
lado para o outro, como um boneco a quem alguém dera corda. Por
fim, num segundo sofá, uma chorosa Sara encostou-se à minha
prima.
Então, a octogenária levantou-se, fazendo uma careta por causa
das dores, enquanto defendia ser preferível dormir com um nazi do
que ser morta por eles, que seria como ela teria acabado em
França. Lembrou as atrocidades na Alemanha e a Noite de Cristal.
Hitler odiava os judeus e queria-os mortos, escrevera isso no seu
livro. Ela e Anne quase haviam sido enviadas para a Alemanha, já
estavam selecionadas, só que os alemães tinham recuado e pedido
dinheiro, uma inesperada alteração que só agora fazia sentido.
Todos os amigos de Raquel a serem enviados para o Terceiro
Reich, mas ela ficara para trás? A razão não fora apenas a fortuna
de Marcel, mas também o esforço que Sara fazia em Portugal.
Com a ajuda de François, que, apesar de embasbacado com
aquelas palavras não deixou de a amparar, Raquel atravessou a
pequena distância que a separava da neta e abraçou-a, gabando-
lhe a coragem e avisando que teria de perdoar-se.
– Não te moas por dentro, foste uma heroína e devo-te a minha
vida. A tua mãe, que é católica, talvez se safasse, mas eu sei o que
me esperava.
Anos mais tarde, continuam a intrigar-me estas palavras da avó
de Sara e François. Em 1940, ainda não havia judeus a serem
gaseados nos campos de concentração de Aushwitz ou Dachau,
mas aquela senhora teve um claro pressentimento do Holocausto.
Seja como for, a sua intervenção acalmou a família, que só se
agitou novamente quando à porta apareceu Schlezinger, com um
ramo de flores na mão.
François cerrou os dentes e Anne empurrou-o para o quarto,
enquanto a avó Raquel se voltava a deitar no sofá, colocando a
botija de água quente debaixo das costas e murmurando
entredentes, de modo a ser ouvida apenas pela neta: – Uma vez
chega!
O coronel deu dois passos em frente, mas Carol colocou-se
entre ele e Sara, obrigando-o a parar.
– Não é bem-vindo aqui.
O alemão olhou para a sua amada, que baixara os olhos,
fazendo de conta que ele não estava ali.
– Só vim falar com a Sara – rosnou.
– Mas ela não o quer. O acordo está cumprido – lembrou Carol.
O coronel empalideceu e chamou a filha de Anne e Marcel com
um certo desespero na voz, mas, como esta nem o olhou, sentiu-se
rejeitado. Ofendido, virou a raiva contra a minha prima, a quem
perguntou: – Foi você quem lhe mudou as ideias?
Irado, acusou-a de trabalhar para os ingleses, mas Carol
ripostou com calma.
– A Sara cumpriu a parte dela, o senhor a sua, nada mais há a
dizer.
Nesse momento, Sara levantou-se e foi também para o quarto.
Schlezinger ainda a chamou, mas, ao ser ignorado, cerrou os
dentes, danado como um cão raivoso.
– Se quiser, pode deixar as flores – sugeriu a avó Raquel.
Furibundo, o coronel atirou o ramo para o chão e apontou o dedo
a Carol, prometendo vingança, antes de sair e bater com a porta.
– Cuidado, que este ladra e morde! – avisou a avó de Sara.
44
Lisboa, 26 de agosto de 1940
Mal soubemos que num barco tinham vagado dois camarotes,
um golpe inesperado de sorte naqueles dias de tanta procura, eu e
Carol comprámos de imediato os bilhetes. Bastante aliviados,
dirigimo-nos à Avenida da Liberdade, onde a minha prima parou à
porta de uma nova loja, metros antes do restaurante que
procurávamos.
– Não acredito! – exclamou.
Entrou a correr e foi recebida nos braços de Viktor e Gertrud,
que haviam concretizado o seu sonho com sucesso, pois viam-se
muitos clientes, deliciados com os sabores dos iogurtes búlgaros.
– A Monika? – perguntou Carol.
Gertrud levou-nos às traseiras, onde se reunia a sua prole, à
volta de várias panelas. Ao ver a minha prima, a menina apátrida
correu para ela e abraçou-a.
– Vamos ficar cá a viver! – jurou Viktor, antes de perguntar por
Katzenberg, pois desejava combinar uma noite de músicas! Com um
sorriso, acrescentou: – O professor queria casar consigo!
Ao lado dele, Gertrud também se riu, mas nenhum dos dois
esperava a novidade que a minha prima lhes contou: casara com o
músico no final de julho, mas só para ele poder ficar em Portugal.
Não viviam juntos, pois Katzenberg estava hospedado em casa de
uma inglesa, no Campo Grande, enquanto ela morava comigo, o
seu primo Jack.
Viktor e Gertrud pareceram atarantados com tais arranjos, mas o
búlgaro logo sorriu e lançou-nos um convite: – Venham no sábado a
nossa casa, em Alfama!
Garantimos que sim, antes de irmos almoçar. Quando se sentou
à mesa, Carol riu-se.
– Jack, o meu marido tem uma amante!
Katzenberg afeiçoara-se a Miss Carlton e, das últimas vezes que
fora à Casa Verde, a minha prima tivera a certeza de que dormiam
juntos.
– O professor é um doce, estás a ver o que perdi?
– E o Marcel? – perguntei, após uma gargalhada.
O pai de Sara permanecia escondido em casa da inglesa,
revelando grande prudência e nunca saindo à rua. Só se agitara nos
últimos dias, ao saber que a mulher chegara a Lisboa e não a podia
ver.
– É apaixonado por ela – sorriu Carol.
– Achas que consegue sair de Portugal? – perguntei.
Como Michael arranjara a Marcel um passaporte falso e a PVDE
nem sequer o conhecia, tudo ia correr bem desde que ele não
embarcasse ao mesmo tempo do que a família, garantiu a minha
prima. Infelizmente, estava enganada. A Gestapo e a PVDE
vigiavam-na, mas só o soube nessa tarde, quando encontrou Miss
Carlton e Katzenberg, na Casa Verde, assustados e pálidos.
– Vieram buscá-lo de manhã – balbuciou o professor.
O Mercedes da Gestapo aparecera no Campo Grande,
acompanhado por um carro da PVDE, onde pontificava o
omnipresente tenente Marrano. A polícia portuguesa revistara a
casa e dera com Marcel dentro de um armário.
Em profunda perturbação, a minha prima pedalou na Hirondelle
até à Embaixada inglesa, crente de que só Michael a podia ajudar.
Há semanas que não o via, nem lhe apetecia revê-lo, mas tinha de
saber do pai de Sara.
– Vamos ao Aljube! – exclamou o inglês, sempre prestável.
Entraram num táxi e dez minutos depois estavam à porta da
prisão da PVDE, onde se sentaram num banco desconfortável, que
ficava mais duro à medida que o tempo passava. O tenente Marrano
fê-los aguardar uma hora.
– O senhor Marcel entrou ilegalmente em Portugal – explicou o
PVDE, com indisfarçável contentamento. – Foi detido e já lhe
comuniquei a ordem de expulsão.
– Posso falar com ele? – perguntou a minha prima.
– Terá de o encontrar primeiro.
O pai de Sara e François fora libertado duas horas antes e só
tinha de voltar a apresentar-se no Aljube às seis da tarde, disse o
cínico Marrano.
Ao ouvir esta descrição, Michael empalideceu, pois normalmente
a PVDE mantinha os detidos sob custódia, pelo menos até à hora
da partida. Algo mais grave acontecera.
– O Marrano entregou-o ao Schlezinger! – afirmou o inglês, já na
rua. O conluio entre a PVDE e a Gestapo durava desde Vilar
Formoso, mas só agora revelava o seu infame potencial.
– O que lhe vão fazer? – afligiu-se Carol.
– Na Comassis talvez saibam dele – lembrou Michael.
Rumaram de táxi ao Bairro Alto, onde Augusto não os animou,
bem pelo contrário. Ouvira histórias de pelo menos dois judeus que
a Gestapo eliminara.
– Desapareceram sem deixar rasto.
Um arrepio de medo desceu pela coluna da minha prima, que
decidiu voltar ao Aljube. Contudo, ao sair do gabinete de Augusto,
reconheceu um homem no corredor. O cônsul Aristides de Sousa
Mendes estava acompanhado por várias crianças e por uma mulher,
e Augusto explicou que fora castigado por Salazar e perdera o
emprego, só por ter passado os vistos em Bordéus e Bayonne. Na
miséria, sem poder alimentar os muitos filhos, o pobre cônsul vinha
comer à cantina da Comassis.
Desanimada, a minha prima murmurou: – O que está a
acontecer ao meu país?
A sua angústia atingiu o ponto máximo às oito da noite, pois
Marcel não regressou ao Aljube, nem foi escoltado pela PVDE para
qualquer posto fronteiriço. Derrotado, Michael rendeu-se às
evidências.
– Perdemo-lo.
Carol começou a chorar, antecipando a terrível novidade que
teria de dar a Sara. O inglês ainda perguntou se queria que a
levasse ao Estoril, mas a minha prima recusou. Foi com ele à
Embaixada, montou na Hirondelle e seguiu sozinha pela Marginal.
Um erro, sem dúvida, devia ter-me falado, eu podia tê-la levado ao
Hotel Palácio e evitado que assistisse a mais uma terrível maldade.
Quando estava a chegar à Parede, o Mercedes negro da
Gestapo ultrapassou-a e obrigou-a a parar. O coronel Schlezinger
saiu do carro e apontou-lhe uma pistola.
– Entre! – ordenou.
A minha prima assim fez, enquanto o ajudante nazi enfiava a
Hirondelle na mala do Mercedes. O mesmo homem vendou-lhe os
olhos, tapou-lhe a boca e atou-lhe as mãos. O coração de Carol
ainda batia acelerado quando o carro avançou, mas rapidamente
deduziu que continuavam no mesmo sentido, o do Estoril.
O que queria Schlezinger? Iria ao hotel, ter com Sara? Esta
segunda dúvida durou pouco tempo, pois tornou-se evidente que
não era o Palácio o destino escolhido. Meia hora após ser
aprisionada, o Mercedes estacionou e Carol ouviu um segundo
automóvel parar também.
Vários homens saíram dos carros e entre as vozes reconheceu a
do tenente Marrano, mas depois todos se calaram e, durante alguns
minutos, a minha prima escutou apenas o intenso barulho do mar.
Então, o segundo carro partiu e alguém abriu a porta do Mercedes,
obrigando-a a sair.
– Este local chama-se Boca do Inferno – rosnou Schlezinger.
Sem aviso, tirou-lhe a venda dos olhos e Carol viu o escuro da
noite, as rochas perigosas à sua frente e depois o oceano. Iam atirá-
la às ondas? Começou a tremer, enquanto o coronel dava uns
passos em frente e parava, junto à escarpa.
Marcel estava no chão de joelhos e Schlezinger já tinha a Luger
na mão direita, apontada à nuca do francês. Um tiro soou, abafado
pelo bater de uma onda nas rochas. O pai de Sara tombou para a
frente e a minha prima entrou em transe, enquanto o ajudante e o
motorista do coronel pegavam no corpo, um nos pés, o outro nos
braços, levando-o até à beira da escarpa, donde o atiraram ao
Atlântico.
Carol ajoelhou-se e assim ficou, até que Schlezinger lhe desatou
as mãos.
– Vai ao Estoril na bicicleta e diz à tua amiga que lhe mataste o
pai quando a afastaste de mim! – gritou-lhe o nazi.
*
Dois dias depois, acompanhei Carol ao cais do Conde de
Óbidos, donde partiu o navio que levou a família de Marcel para
Nova Iorque. Centenas de refugiados embarcaram também,
esperançados num futuro melhor, deixando para trás um continente
em guerra. Lembro-me de que a bela Sara parecia um fantasma,
que François perdera completamente a rebeldia e que Anne já não
falava. Só a avó de Sara abandonou Lisboa com uma palavra de
ânimo, declarando que nenhum deles se devia martirizar pelo que
tinham feito, pois assim era a guerra contra aqueles monstros.
– Não somos os únicos, nem os últimos, a sofrer – afirmou
Raquel.
Ficámos a ver o barco afastar-se, até que Carol me revelou, em
voz sumida.
– Jack, vou voltar a França, quero ir ver o Rover.
PARTE V
AS ANDORINHAS
(Les Hirondelles)
45
Gurs, 15 de setembro de 1940
Rover tinha engordado apenas um quilo e continuava fraco e
com cólicas. Vomitava todos os dias e por isso Newt, o mais duro
dos três marinheiros ingleses, recusava uma fuga conjunta. Há mais
de dois meses que os compatriotas estudavam os guardas de Gurs,
aprendendo com os erros dos outros presos que haviam tentado
escapar. Apenas quatro judeus tinham sido bem-sucedidos,
intelectuais ou industriais que esperavam a deportação para a
Alemanha, gente procurada pelos nazis, pessoas prioritárias que a
rede do americano Fry ajudara.
Os outros, mais de vinte, acabaram perdidos na floresta, tendo
sido apanhados pelos guardas, que organizavam batidas para os
procurar. Eram sobretudo alemães e as suas frustrações cresciam.
Havia uma raiva latente em muitos, que, por não serem importantes
ou ricos, não eram auxiliados por Fry. Enfureciam-se e tornavam
agressivo o ambiente em Gurs, dando origem a ocasionais
situações de pancadaria.
Os quatro ingleses procuravam evitar estas escaramuças, mas
iam tendo conhecimento delas, seja porque as viam nos terreiros,
seja porque Jacqueline lhes contava o que se passava nos outros
barracões. A enfermeira francesa continuara a vir a Gurs até
meados de setembro, quando terminara o seu trabalho ali.
O administrador do campo exigia à Cruz Vermelha uma rotação
entre as mulheres, para que os presos não se habituassem a
qualquer delas. Por isso, o responsável da organização humanitária
em Pau, chamado Eugène, trocava as enfermeiras entre os vários
campos existentes naquela região de França.
Dois dias antes, Jacqueline fizera a sua derradeira visita a Rover,
entregando-lhe mais um frasco de comprimidos.
– Vem aí uma inglesa – dissera. – Fala com ela. Mas ainda não
estás pronto.
Depois de dois meses de curtas conversas, já tinham confiança
um no outro. Rover sabia que Jacqueline e o marido, Pierre,
moravam em Pau, mas também possuíam uma pequena casa perto
dos Pirenéus, numa aldeia na montanha. Pierre ajudava pessoas a
fugirem para Espanha, levando-as pelos tortuosos caminhos que
atravessavam os picos da cordilheira.
– Como voltamos a falar? – perguntara Rover. – Mando uma
mensagem pelas outras enfermeiras?
– Não – respondera Jacqueline. – E também não fales com o
Eugène, o administrador do campo pode perder a confiança nele, o
que seria um desastre.
– Então? – insistiu Rover.
– Fala com a inglesa que aí vem – declarou a enfermeira. –
Chama-se Mary e sabe como contactar-me.
Dois dias depois, como Rover esperava, Jacqueline não voltou e
o piloto sentiu-se só e desamparado. Por mais camaradas que Billy,
Rod e Newt fossem, a certeza de que não iriam fugir juntos
diminuira a cumplicidade entre todos. Por vezes, os três afastavam-
se para o terreiro, onde conversavam à parte, deixando o piloto para
trás, na rua central ou junto aos barracões. E quando, nessa tarde,
apareceu a referida inglesa essa incómoda distância agravou-se.
Rover viu-a junto ao camião que trazia as enfermeiras de Pau,
quando estas chegaram de manhã, conduzidas por um motorista e
na companhia de Eugène. Durante o resto do dia não a voltou a ver
e foram os outros ingleses que o vieram chamar, a meio da tarde.
Estava deitado no chão, fazia-o todos os dias e durante várias horas
a seguir ao rancho, para tentar ganhar peso.
– Mad man, a Mary quer conhecer-te – disse Billy, com um
sorriso animador. – Tenta mostrar-te em forma.
– Isto é um teste? – perguntou Rover, enquanto se levantava.
Quando saiu do barracão, viu uma enfermeira a entregar
cigarros a Rod e a Newt. Era morena e magra e tinha um ar agitado,
como se estivesse sempre com pressa. Olhou-o num ápice,
fingindo-se desinteressada, mas a aguçada vista de Rover captou a
forma como ela focou brevemente o seu coto.
– Não é enfermeira – disse, num murmúrio que só Billy escutou.
Este desdenhou a descoberta.
– É por isso que nos vai safar.
Meia hora depois, Rod garantiu que Mary trabalhava para o
Governo inglês e não vinha preocupada com os judeus ou com os
prisioneiros de outras nacionalidades.
– Só recolhe soldados nossos, que possam voltar à guerra –
acrescentou Newt. – Mas conhece o americano.
Pelos vistos, o homem que se chamava Fry ia colaborar com a
recém-chegada, pois os três ingleses fugiriam para Marselha.
– Mas ela não te vai levar – adiantou Newt.
– Não engordei o suficiente – ironizou Rover.
– Não tens mão direita. Já não podes pilotar aviões – explicou o
outro.
Billy protestou, achou que o colega fora bruto.
– Talvez ela mude de ideias. Mad man, não percas a esperança!
– Não faz mal, safo-me sozinho – disse Rover. – Ela vai voltar?
Newt informou-o que, após aquele rápido reconhecimento do
campo e das condições em que viviam, a inglesa só regressaria dali
a um mês, uns dias antes da fuga.
– Tanto tempo? – espantou-se Rover.
– Mad man, a tua Carol deve ser mesmo bonita! – riu-se Billy.
– Tens pressa, mas não ganhaste quase nenhum peso –
lembrou Newt, sem contemplações e antes de acender um cigarro.
Então, Rod disse que ia urinar e Billy foi com ele. Rover olhou
para a rua central, onde dois alemães irados estavam a ser
escoltados por guardas para o respetivo barracão.
– O vosso buraco está pronto. Num mês corre o risco de ser
descoberto – avisou o piloto.
Os três ingleses revezavam-se a cavar por debaixo do arame
farpado e das redes que delimitavam o campo, por detrás dos
barracões. A abertura estava tapada por uma lona, com terra por
cima. Como era verão, não havia perigo de muita chuva, mas a
Rover parecia-lhe um forte risco aquilo ficar assim um mês inteiro,
os guardas passavam no local todos os dias e todas as noites,
quando faziam as rondas.
– Sabemos disso – disse Newt. – Mas só podemos fugir quando
tivermos alguém que nos leve a Marselha.
Além disso, acrescentou o marinheiro, o administrador do campo
de Gurs ia ser substituído nos primeiros dias de outubro, pois o
anterior tivera um conflito com as autoridades nazis, por causa de
uns prisioneiros comunistas. Era melhor a fuga ocorrer depois dessa
alteração, pois o novo administrador não conheceria tão bem as
manhas dos presos.
– Nem as brigas que aqui há – lembrou Newt.
Existia gente complicada em Gurs. Muitos eram franceses,
prisioneiros de delito comum ou partidários da extrema-esquerda.
Outros tinham sido arrastados pela guerra, sobretudo os alemães,
muitos deles judeus em fuga e também uma quantidade
considerável de comunistas, com a cabeça a prémio na Alemanha.
– Vão ser transferidos para o seu país e andam nervosos –
comentou Newt. – A nossa sorte é isto ser guardado pelos
franceses.
Rover não se sentia com sorte nenhuma, as condições de Gurs
eram horríveis e nem queria pensar como seria o inverno. De
repente, ficou muito abatido. Polly partira, Jacqueline também, os
ingleses iam fugir sem ele e a carta que entregara à Cruz Vermelha
nunca obtivera resposta. Ninguém lhe enviara o Quo Vadis para que
o pudesse terminar.
Baixou os olhos e pensou em matar-se. Só tinha de cortar os
pulsos ou enforcar-se no arame farpado. Mas não era certo que
morresse e ainda ficaria mais fraco. Além disso, a luz de Carol ainda
brilhava no seu coração.
46
Lisboa, 29 de setembro de 1940
Embora sob jugo alemão, Paris estava pacífica e quando soube
que as aulas na Sorbonne iam recomeçar em outubro, a minha
prima pediu autorização à PVDE para prosseguir os estudos. O
processo seguiu os trâmites legais portugueses e o agora seu
marido, o professor Katzenberg, autorizou, sem hesitar, a saída da
esposa.
Contudo, antes de seguir para a capital francesa, Carol desejava
ir ao campo de prisioneiros em Gurs. Escrevera para lá, mas só
obtivera silêncio. Talvez a carta, enviada através da Cruz Vermelha,
se tivesse extraviado, coisa muito comum em tempo de guerra. Sem
alternativa, recorreu a Michael, que ansiava por uma nova
oportunidade para se reabilitar.
– Queres jantar comigo e com a Polly hoje, no Casino Estoril? –
perguntou aquele que viria a tornar-se o meu melhor amigo.
A minha prima olhou-o de soslaio, escutando uma justificação:
Michael queria apresentar-lhe uma mulher que também trabalhava
na Embaixada inglesa, chamada Mary, que poderia ajudá-la.
– Nesse caso, levo o meu primo Jack – estabeleceu Carol.
Fomos os dois até ao Estoril no Citroën azul, que eu adquirira
em troca dos bilhetes obtidos para a família de Sara. Foi, portanto,
dessa vez que conheci Michael, com quem simpatizei à primeira;
bem como Polly, a quem me afeiçoei até ela partir para o Egipto e
que me distraiu imediatamente, obrigando-me a separar de Michael
e Carol.
Assim e nessa noite, só Carol falou com Mary, que eu viria a
conhecer meses mais tarde. Casada com o coronel Bowles, que
pouco tempo depois dirigiu em Portugal o SOE (Special Operations
Executive), um serviço secreto paralelo ao MI6 que Churchill ativou
na Europa, Mary Bowles era uma alma agreste, uma fumadora
implacável e uma bebedora impenitente. Bonita, magra e morena,
exprimia-se quase sempre num palavreado antipático e exibia um
rol de manias excêntricas, que se manifestavam de surpresa.
Depois de jantar, por exemplo, convenceu o grupo que a
acompanhava a ir tomar banho à noite, na praia em frente ao
Casino Estoril. Só eu e Polly é que não fomos, permanecendo nas
salas a beber.
– Quero tudo nu! – gritou Mary, incentivando os outros a
despirem-se, enquanto se sentava na areia, ao lado de Carol,
disparando sem aviso: – És a portuguesa que dormiu com o
Michael!
A minha prima mordeu o lábio e recusou-se a comentar essa
aventura desagradável.
– O meu namorado está preso em Gurs.
A inglesa afirmou que Michael fazia o que fosse preciso para
levar mulheres para a cama, tinha como lema: «Em todas as frentes
e em todas as costas!» Era um safado, mas ela gostava dele.
– E já o provei também.
Carol forçou um sorriso amarelo, o tema ainda lhe causava
incómodo, mas desde que soubera Rover vivo só recorria a Michael
por interesse.
– Disse-me que podias ajudar-me.
Desapontada com a renitência dela em coscuvilhar, Mary Bowles
olhou o mar.
– Se calhar, devias refrescar as ideias...
Oito pessoas, entre as quais Michael, mergulhavam nas
pequenas ondas do mar do Estoril, chapinhando e rindo.
A inglesa acendeu um cigarro.
– Um daqueles é milionário – o visado ia para a América, mas,
como estava bom tempo, decidira ficar no Estoril mais umas
semanas. – Isto se a Alemanha não nos invadir... – murmurou Mary.
Os nazis queriam cortar o acesso da Inglaterra ao Mediterrâneo e
Salazar não teria força para se opor. – Hitler conquista este país
com um telefonema.
A minha prima não partilhava essa preocupação, só queria voltar
a França, donde tivera de fugir aquando da invasão alemã.
– Eu já não suportava as bombas e as sirenes em Londres –
contrapôs Mary. – Infelizmente, o meu marido também vem para cá.
É uma péssima ideia.
Carol ficou calada uns segundos, a inglesa era parecida com
Polly, só falava nela própria. Insistiu no tema que lhe interessava.
– Soube que foste ao campo de Gurs. Posso ir visitar Rover?
– Apetece-te dar um mergulho? – perguntou de súbito Mary.
– É piloto, o avião dele foi abatido – contou a minha prima, sem
responder à questão.
– O corpo nu dos homens repugna-me – comentou a inglesa,
antes de dar mais uma passa no cigarro.
Paciente, Carol aceitou o diálogo nos termos da outra. Afinal,
estava a pedir-lhe um favor.
– Em Portugal, é proibido usar certos fatos de banho, quanto
mais andar nu na praia.
– Salazar proíbe tudo – protestou Mary, antes de olhar de novo o
mar. – O que vai ele fazer depois da guerra?
Carol franziu a testa.
– Quem? O Salazar?
– O teu Rover.
– Piloto não pode ser, perdeu a mão direita – lembrou a minha
prima.
A inglesa disse que para a Inglaterra só era prioritário recuperar
quem podia voltar a combater, tendo Carol retorquido que o piloto
podia fazer outras coisas.
– Queres casar com um inglês? – espantou-se Mary.
A minha prima suspirou, alegando que isso seria impossível, pois
desposara um professor de música, um judeu de sessenta anos,
para evitar que fosse expulso de Portugal.
Apesar de surpreendida com tanto altruísmo, Mary aprovou-o: –
Antes isso do que com um homem que não nos deseja.
Carol voltou a recusar a deixa dela, as infelicidades alheias não
lhe diziam respeito.
– Quando a guerra acabar, divorcio-me.
– Vais ter de esperar uns anos – previu Mary. – Se fosse a ti,
esquecia o Rover... Foi o que eu fiz. Bebo uns copos e durmo com
outros.
Naquela noite, a conversa não avançou mais do que isto e Carol
veio ter comigo ao Casino, donde regressámos a Lisboa, na
companhia de Polly. Contudo, a insistência da minha prima acabou
por dar frutos e, dias depois, Mary Bowles admitiu a hipótese de
levar Carol para o Sul de França, como enfermeira da Cruz
Vermelha, pois havia falta de mulheres para realizar as visitas aos
campos de prisioneiros.
– Vamos de barco – informou-me uma animada Carol.
– E a Hirondelle? – perguntei.
– Levo-a comigo.
Esta intenção não seria, porém, concretizada, pois afinal a minha
prima teve de ir para Marselha de avião. Mas isso foi já a meio de
outubro e no princípio desse mês ocorreu um encontro inesperado,
que é importante relatar.
À saída do Consulado francês, onde fora renovar o seu visto,
Carol cruzou-se com Edite. Ao contrário do que fora costume
durante a viagem desde Paris, em que se apresentava sempre
aperaltada, desta vez a francesa exibia uma roupa coçada. Além
disso, tinha o cabelo sujo e o habitual sentido de humor fora
substituído por uma cascata de lamúrias.
– Os franceses regressaram a França e os portugueses não me
entendem! Arranjar clientes é o cabo dos trabalhos. Vou voltar ao
meu país – desabafou Edite.
– Vais para Paris? – perguntou Carol.
– Isso não! – a França Ocupada não era uma boa ideia para uma
mulher judia.
Então, Carol informou-a de que, antes de rumar à capital de
França, iria a Marselha.
– Lembras-te do Rover?
Edite franziu a testa, pois julgava-o morto.
– Está vivo! – exclamou a minha prima. Só apanhara um tiro e
sobrevivera, mas estava preso e Carol queria ir vê-lo, antes de
voltar à Sorbonne. – Tenho saudades dele.
– Claro – balbuciou Edite, antes de perguntar: – Sabes do Otto?
O alemão partira em direção à América, para onde seguira
também a família de Sara, exceto Marcel, que fora assassinado pela
Gestapo. Quanto aos restantes companheiros de viagem, a minha
prima revelou que Michael trabalhava na Embaixada inglesa e que
os búlgaros, além de terem adotado Monika, haviam aberto uma
bem-sucedida loja de iogurtes.
– E o professor Katzenberg? – perguntou Edite.
Carol riu-se.
– Nem vais acreditar. Casei com ele.
– O quê? – espantou-se a francesa. – E tens de...?
– Claro que não! – o músico vivia com uma inglesa e ela
hospedara-se em casa de um primo. – Só casei para o salvar da
deportação.
A francesa assobiou, impressionada.
– Com essa carita inocente, és um pocinho de surpresas e
safas-te bem melhor do que eu!
– Como vais para França? – perguntou a minha prima.
Edite encolheu os ombros, não sabia ainda, mas o mais provável
era apanhar um comboio, mal conseguisse amealhar uns trocos.
– Porque não vens comigo até Marselha? – perguntou Carol.
Com a impulsividade que a caraterizava, desafiou a francesa a
oferecer-se como enfermeira da Cruz Vermelha, mas a outra fez
uma careta, tratar de feridos não a entusiasmava.
– Odeio sangue.
– É melhor do que aquilo que fazes... – comentou Carol.
– As enfermeiras não ganham nada! – protestou Edite.
A minha prima apontou para a roupa dela, constatando que o
uso da anatomia não lhe rendia muito.
– Vou daqui a uns dias, é fácil arranjar bilhete, ninguém quer ir
para França.
– Não tenho dinheiro – lamentou-se Edite.
– Dessa parte trato eu – garantiu a minha prima.
A francesa sorriu-lhe, mais animada.
47
Lisboa, 12 de outubro de 1940
No dia em que partiu para França, Carol deixou a Hirondelle no
logradouro do meu prédio, debaixo de um telheiro que a protegeria
da chuva e com o cadeado trancado, entregando-me a chave com
relutância.
– Jack, só se houver um terramoto!
Entrámos no Citroën e apanhámos Edite numa esquina do
Terreiro do Paço. Ao ver-me, a francesa abriu um sorriso guloso.
– Não sabia que tinhas um sobrinho tão giro!
– Primo – corrigiu Carol.
– Para ti faço um preço especial, sobrinho lindo! – afirmou Edite,
puxando para baixo o decote.
– Primo – repetiu Carol.
– És tão maçadora! – protestou ela. – E comeste-lhe a língua?
Ri-me, bem-disposto, e estendi-lhe a mão para a cumprimentar.
– Preferia outra coisa... – ronronou a francesa.
– Calma, o Jack só vai levar-nos! – avisou Carol.
– Isso é que é pena! – protestou Edite, olhando-me gulosamente.
Simpatizei com aquela estouvada, que me pareceu uma boa
companhia para a minha prima, pelo menos até esta se encontrar
com Mary Bowles, supostamente numa pensão em Marselha, onde
teria de aguardar por um contacto.
– Acho que a Mary é uma espia – dissera-me Carol, a brincar,
mas com o instinto certo.
Meses depois, conheci Mary Bowles na intimidade e soube que
trabalhava para o MI9, o departamento dos serviços secretos
responsável por resgatar os soldados ingleses perdidos algures na
Europa ou no Mediterrâneo. Daquela vez, o propósito era trazer
alguns do Sul de França.
Em Cabo Ruivo, entrámos no edifício da Alfândega e a minha
prima identificou de imediato o tenente Marrano, que, pelos vistos,
agora estava de serviço no aeroporto, liderando a PVDE no local.
– Olha o picha-mole! – resmungou Edite.
Marrano esperou que chegássemos junto dele, enquanto
verificava os documentos de outros viajantes que nos antecediam
na fila.
– Tem as autorizações em ordem? – perguntou à minha prima,
enquanto mirava Edite como alguém que deseja uma segunda
oportunidade. Não estranhei, quando ele apontou uma porta lateral
à francesa, que o seguiu submissa e de olhos no chão.
– Miserável – rezingou Carol.
Meia hora depois, a porta reabriu-se e Edite reapareceu.
– Vou para França! – exclamou contente, abanando o visto de
saída.
Porém, enquanto entregávamos as malas no balcão da
companhia aérea, a minha prima sentiu-a desanimada.
– Estás bem?
– Só valeu pelo visto... – resmungou Edite, antes de uma súbita
mudança de humor, que me teve como alvo. – Sobrinho lindo, se
fores a Marselha, pergunta pela Edite Belle Bouche!
Carol fez uma careta enojada.
– Que raio de nome!
– Pensa num melhor, andas a estudar literatura para alguma
coisa! – ripostou a francesa, antes de se endireitar, orgulhosa. –
Edite Molière também não soa mal, adoro pancadinhas!
Rimo-nos os três e despedi-me dela com um beijo.
– Se voltares: Jack Gil, Rua dos Remédios à Lapa, sempre às
ordens!
Divertida, Edite bateu profusamente as pestanas: – Ai, sobrinho
lindo, que ainda cá fico ao teu colinho!
Emocionada, a minha prima abraçou-me e agradeceu a
amabilidade de a ter hospedado, bem como a ajuda na compra dos
bilhetes para a família de Sara.
– Boa viagem e escreve quando chegares a Paris – pedi-lhe.
*
A partir daqui, os acontecimentos da vida de Carol já não me
foram narrados por ela, mas por Mary Bowles, algum tempo mais
tarde. Soube que aterraram em Marselha sem atribulações, mas
não faço ideia do que se passou com Edite e Carol nessa cidade
francesa durante quatro dias, sei apenas que, ao quinto dia, um táxi
foi buscá-las à pensão onde pernoitavam, deixando-as numa quinta
a uns quilómetros do centro, cujo proprietário era um americano.
– Porque a trouxeste? – enervou-se Mary, ao ver Edite.
– É minha amiga e quer ser enfermeira – explicou a minha prima.
– Que tolice! – barafustou a inglesa.
Carol engoliu em seco, as coisas começavam mal e uma
desconfiada Mary ordenou que Edite permanecesse sentada num
banco, no hall da enorme casa. Esta limitou-se a um encolher de
ombros desinteressado, enquanto Carol subia uma escadaria atrás
da inglesa, ouvindo dela um segundo protesto: – Os nazis andam a
vigiar-nos, devemos ter cuidado!
– Desculpa, mas estou sozinha em Marselha... – justificou-se a
minha prima. – E conheço bem a Edite, fugiu de Paris comigo.
Sem mais conversa, Mary Bowles abriu uma porta e as duas
entraram numa pequena sala, onde as esperava um homem com
pouco mais de trinta anos, bem-parecido e bem vestido, num fato
branco com finas riscas azuis. Era loiro e uma longa franja caía-lhe
sobre a testa, tapando ligeiramente o olho direito.
– Fry, esta é a Carol, a portuguesa – apresentou Mary. – Foi
imprudente, trouxe uma francesa!
Sem revelar preocupação, o americano levantou-se e
cumprimentou a minha prima com um aperto de mão suave,
enquanto dizia já saber que ela desejava visitar o marido, em Gurs.
– Noivo – corrigiu Mary.
– Namorado – corrigiu Carol.
Indiferente às formalidades, Fry declarou que a minha prima se
devia orgulhar do piloto, um resistente que levara um tiro na barriga.
– Pena a mão direita, não pode voltar à RAF – acrescentou.
– Ele está bem? – perguntou Carol.
– Está preso – lembrou Fry. Porém, uma vez por semana, um
camião da Cruz Vermelha ia ao campo levar cigarros, chocolates ou
cobertores. Como enfermeira, a minha prima podia ir visitá-lo,
explicou o americano, antes de perguntar, admirado: – Foi de Paris
até Lisboa de bicicleta?
Carol descreveu episódios da viagem, com o seu habitual talento
narrativo, até chegar a Hendaia, onde Rover fora baleado pelos
alemães.
– Durante semanas pensei que morrera.
– Espantoso! – admirou-se Fry. – Onde se conheceram?
A minha prima recordou a primeira vez que o vira, no hospital,
em Paris, com as botas em cima da cama, a atirar uma bola de
trapos a Chamberlain. O seu coração acelerou, nem acreditava que
estava perto de o rever.
– Adiante! – avisou Mary, já irritada.
– Ela e a francesa podem ser úteis – avisou Fry, com um sorriso
matreiro. – Uma distração...
Meses mais tarde, vim a saber que aquele americano era o
cérebro de uma rede que ajudava os judeus em fuga aos nazis, mas
também prisioneiros ingleses, canadianos, australianos ou
neozelandeses. A partir daquela quinta, dirigia várias operações
secretas, pois nesses dias ainda gozava de uma liberdade que
nenhum inglês já tinha em França. Esta situação só se alteraria no
final de 1941, quando a América declarou guerra ao Japão e à
Alemanha, após o bombardeamento de Pearl Harbour pelos
japoneses. Até esse momento transformador da guerra, a Côte d
´Azur era um santuário para os americanos e alguns deles, como
Fry, foram essenciais no planeamento e execução de muitas fugas,
como a que os compatriotas de Rover já preparavam.
48
Pau, 18 de outubro de 1940
O camião da Cruz Vermelha encontrava-se parado à porta de um
edifício, em Pau, uma pequena cidade francesa no sopé dos
Pirenéus. Encostada a ele, Carol conseguia ver a grande cordilheira
no horizonte, com os picos cobertos de neve, mas os seus
pensamentos não se detinham nas montanhas. Estava tão próxima
de Rover, a pouco mais de quarenta quilómetros...
Fez um esforço para se lembrar das feições do piloto, mas a
primeira imagem que lhe veio à cabeça foi o coto, com uma cicatriz
na ponta e a pele repuxada no local onde fora decepado. O que
melhor recordava era a sensação de incómodo dele, a irritação que
lhe provocava a perda, a constante vontade de esconder aquela
ausência, colocando o braço atrás das costas. A mão direita de
Rover ensombrava-lhe o presente e o futuro.
Mais uma vez, duvidou das capacidades dele. Vira-o com uma
pistola na boca, pronto a matar-se, mas depois convencera-o a fugir
e ele renascera. Só que... Rover estivera sem ela desde o final de
junho, quase quatro meses, como se sentiria agora? As informações
que possuía eram escassas. Schlezinger dissera que fora corajoso,
levara um tiro para salvar os compatriotas. «É um resistente»,
comentara Fry, antes de confirmar que estava preso, como se isso
adiantasse alguma coisa.
Carol suspirou, receosa. E se a abulia e o desânimo o
atingissem, como em Paris? Conseguiria insuflar-lhe o desejo de
continuar vivo? Rover levara uma pistola à boca num hospital
parisiense donde podia ter fugido, não numa prisão onde a
escapatória era quase impossível. Mesmo sabendo que, em Gurs,
os guardas franceses não exibiam a crueldade dos nazis, teria de
perceber se ele apenas vivia porque não dispunha de uma arma.
Ouviu Edite a aproximar-se, com um cigarro na boca. Tal como a
minha prima, a francesa vestia uma bata creme e um casaco verde-
escuro. Os decotes ousados, o pó-de-arroz, o batom excessivo nos
lábios, tinham sido banidos pelas regras da Cruz Vermelha. Agora,
em vez de prostituta, Edite era uma ajudante de enfermeira, que
quase nada sabia do ofício, tal como Carol e Mary.
As três tinham vindo de Marselha num carro e haviam-se
apresentado naquele prédio, em Pau, onde um homem de bigode
chamado Eugène lhes dera aquelas singelas vestes, enquanto
explicava o que esperava delas. No camião, viajariam também cinco
verdadeiras enfermeiras, que estavam na região há meses.
– Mudar pensos é com as profissionais – explicara Eugéne. –
Vocês só vão distribuir cobertores, chocolates ou cigarros.
– Que tédio – bufou Edite, encostando-se também ao camião.
– Porta-te bem – pediu Carol.
Mary continuava enervada com a presença da gaulesa, porém
Fry convencera-a da utilidade dela, pois nenhuma das enfermeiras
falava francês. As duas polacas, as duas americanas e a holandesa,
embora eficientes a tratar dos prisioneiros, não conseguiam
comunicar com os guardas e sacar deles qualquer informação útil.
Contudo, Carol temia que Edite levasse longe de mais a tagarelice
ou que se tentasse vender aos guardas, o que levantaria suspeitas
sérias, pois não se esperava tal desenvoltura de uma ajudante de
enfermeira da Cruz Vermelha.
– Estás nervosa? – perguntou a francesa.
A minha prima engoliu em seco, quase incapaz de suportar a
ansiedade.
– Porque é que nunca mais partimos?
Às dez da manhã, apareceu finalmente o motorista e o grupo
viajou, calado, durante uma hora, até chegarem a Gurs. O campo
ficava à entrada da pequena vila e começaram a ver as vedações e
os barracões. Segundo Mary, fora estabelecido para albergar
refugiados bascos, durante a Guerra Civil de Espanha, mas no início
desse ano tinha sido transformado num campo de prisioneiros, uma
mistura que incluía judeus fugidos do país de Hitler, da Polónia ou
da Áustria; ativistas franceses de esquerda; presos comuns que
haviam sido transportados para ali aquando da invasão alemã da
França; e ainda alguns soldados capturados nos últimos meses.
– Vinte e oito hectares – afirmou Mary Bowles. – Mil e
quatrocentos metros de comprimento, duzentos de largura, uma
única rua.
Muitos prisioneiros e alguns guardas caminhavam
vagarosamente pela alameda que atravessava o campo a meio,
estando as duas margens da mesma parceladas numa espécie de
ilhas, seis de cada lado, dentro das quais se viam talvez uns trinta
barracões sem janelas.
– Catorze mil e oitocentos prisioneiros! Em cada barracão
dormem cerca de quarenta! – continuou Mary.
As ilhas separavam-se da alameda e umas das outras por redes
e entre cada uma delas e a vedação exterior existia um corredor, por
onde circulavam os guardas, que se apoiavam em extensões de
arame sem espinhos, como se fossem corrimões. Não havia casas
de banho, água corrente ou esgotos.
– É miserável – comentou a inglesa.
Os presos lavavam-se à mão numas longas caixas, semelhantes
a bebedouros para animais, e as retretes ficavam numas
plataformas de madeira com dois metros de altura, a que os
necessitados acediam por uma escada rudimentar e donde os
excrementos caíam para umas grandes tinas, colocadas em baixo.
Fora do campo e ao longo de toda a vedação, Carol viu vários
edifícios, também de madeira, que alojavam os guardas, sendo que
o da administração era o maior, junto ao portão onde o camião
parou. Um guarda veio verificar os documentos delas, enquanto o
administrador do campo trocava umas palavras com Eugène.
– São civis? – perguntou Carol.
– Nomeados pelos franceses, mas estão cá há pouco tempo –
esclareceu Mary. – Temos de aproveitar.
As debilidades, em Gurs, eram evidentes: não existiam torres de
vigilância, nem holofotes; as redes não estavam eletrificadas e
tinham apenas dois metros de altura; a alameda central era um mar
de lama, pois a chuva empapara o terreno argiloso.
– O cu do mundo! – declarou Edite.
Carol suspirou: se no romance, escrito por Alexandre Dumas, O
Conde de Monte Cristo, este conseguira fugir de uma inóspita e
pequena ilha no meio do Mediterrâneo, certamente que Rover
escaparia daquela prisão suja e mal guardada.
– Podem sair! – ordenou Eugène.
As oito enfermeiras desceram do camião e cumprimentaram o
administrador com um aperto de mão, ouvindo a explicação deste
sobre os procedimentos a cumprir. Iriam às ilhas, distribuir os bens e
prestar assistência aos doentes. Em relação à última visita, existia
apenas a novidade de uma pneumonia e um braço partido.
– Vão duas a cada ilhota, façam o que puderem até ao fim da
tarde – rematou Eugéne. – Bom trabalho.
Mary ordenou a Carol que ficasse com Edite, ela emparelhava
com a holandesa, pois as polacas e as americanas juntaram-se
naturalmente.
– Olhos bem abertos.
– Esta parvalhona julga que vou mudar ligaduras? – indignou-se
Edite, que se deixou ficar para trás.
– Vamos – pediu Carol.
Passaram pelo portão e caminharam pela alameda central,
evitando as zonas mais enlameadas. Os presos dirigiam-lhes
sorrisos, mas os guardas enxotavam-nos. Dois, de espingarda ao
ombro, seguiam cada duo de enfermeiras e Edite meteu conversa
com os que as acompanharam. Carol ainda escutou as primeiras
frases trocadas, mas logo se desconcentrou, examinando o campo,
na esperança de ver Rover.
Ainda não o descobrira quando entrou na primeira ilha, onde
existiam trinta barracões. Cada duo de enfermeiras dirigiu-se ao
respetivo barracão, mas Carol teve de levar a mão à boca quando
entrou no seu, pois o cheiro era muito desagradável. Uma mistura
de suor e urina empestava um local difícil de arejar devido à
ausência de janelas. No teto, uma única lâmpada iluminava o
interior e o chão estava coberto de sacos com palha, em cima dos
quais os prisioneiros dormiam. Quatro deles encontravam-se
deitados a um canto e a minha prima aproximou-se, seguida de uma
esforçada Edite, que, apesar de não evitar os esgares de nojo, a
ajudou a identificar as febres e as cólicas dos compatriotas.
Quinze minutos depois, Carol regressou ao exterior do barracão
e chamou Eugène, reportando-lhe as mazelas encontradas. O
francês deu-lhe uns comprimidos e uma garrafa de água, que ela foi
entregar aos detidos, topando que Edite conversava com os
soldados em voz baixa, mostrando-se cúmplice, solidária e até
preocupada. Porém, as informações conseguidas pela francesa
ainda eram curtas e a minha prima só se animou quando, ao final da
manhã, pararam para comer junto ao camião.
Apesar de terem apenas visitado os trinta barracões da primeira
ilha, Mary Bowles já sabia onde os ingleses estavam.
– Terceira ilha do lado direito – informou, olhando para Carol. –
Estás com sorte, ainda o vais ver hoje.
49
Gurs, 18 de outubro de 1940
As visitas à segunda ilha demoraram mais tempo do que Carol
esperava, pois foram constantemente interrompidas pela
distribuição do almoço. Enormes panelas de uma sopa com péssimo
aspeto eram trazidas por um grupo de cozinheiros, que as
pousaram no chão à entrada de cada ilha, esperando que os
prisioneiros, a quem forneciam umas malgas de barro, viessem
servir-se. Contudo, após uns quarenta terem obtido a sopa, os
restantes tinham de aguardar a vez em fila indiana, até as malgas
serem devolvidas e depois passadas por água, pelos cozinheiros,
antes de as usarem de novo.
Este moroso processo atrasava as enfermeiras, pois a maioria
dos feridos abandonava os barracões para ir buscar a sopa,
obrigando-as a aguardarem pelo final do repasto para
diagnosticarem as mazelas e distribuírem os medicamentos. A
entrega dos cigarros e dos chocolates também se atrasava, pois os
restantes detidos só os podiam receber depois de os doentes serem
assistidos.
Enquanto os reclusos comiam ou esperavam na fila, Carol saiu
da segunda ilha e caminhou até à entrada da terceira, na esperança
de ver Rover. Mais uma vez, não viu sinal dele, mas junto a um
barracão topou um grupo de homens a rir, reconhecendo os
ingleses de Hendaia. Contudo, o assobio de Mary foi acompanhado
de uma ordem, para Carol não se aproximar.
– Esses são meus!
Portanto, só após o longo almoço é que entraram na terceira
ilha. A minha prima estava nervosa e Edite teve de lhe chamar à
atenção, tinha de ajudá-la, pedir a Eugène remédios, distribuir os
chocolates e os cigarros.
– Quanto mais depressa, mais devagar! – protestou a francesa,
exasperada com Carol.
– Só penso nele – confessou esta.
– Assim vais deitar tudo a perder, eles topam-te... – avisou Edite.
O tempo demorou a passar, os barracões estavam cheios depois
do almoço, muitos presos dormitavam e outros exigiam com rispidez
cigarros ou fósforos e chegavam a ser malcriados. Alguns davam-
lhes apalpões nos rabos, antes de berrarem, magoados, porque
logo os soldados lhes aplicavam uma coronhada.
Perplexa, Carol notou que Edite incentivava certos detidos com
olhares lascivos e deu por si a pensar que ela era carnal por instinto,
gostava de ser tocada por homens, uma mão masculina a afagá-la
era como um elixir de juventude.
– Coitados, dou-lhes uma alegria – justificava-se a francesa
quando considerava um ferido giro, mas Carol pressentia que ela
não o fazia por altruísmo, era mesmo a sua essência.
Como combinado, deixaram o barracão dos ingleses para Mary e
para a holandesa. No entanto, mal estas entraram, a minha prima
aproximou-se dos ingleses de Hendaia, que conversavam
encostados às redes.
– Conhecem o Rover? Um piloto da RAF, sem a mão direita?
Estupefactos, os três marinheiros pararam imediatamente de
falar.
– Jesus... – murmurou Newt.
– Good Lord! – exclamou Rod.
– Unbelievable! – comentou Billy. – Are you Carol?
A minha prima corou, não porque estivesse envergonhada, mas
porque compreendeu de imediato que Rover lhes falara dela.
– Yes – disse, questionando-os novamente sobre o piloto.
O terceiro inglês apontou para o terreiro grande, que ficava no
final das ilhas de barracões, onde Carol viu muitos presos a
conversarem, a fumarem ou a jogarem futebol.
– Podem ir chamá-lo? – pediu. Os três ingleses olharam uns
para os outros, mas nenhum se voluntariou. – Gostava de vê-lo
ainda hoje, estamos a terminar – insistiu ela.
Então, Billy deu um passo em frente.
– Guarda-me uns cigarros e um chocolate extra – pediu.
Carol, com o coração apertado ficou a vê-lo afastar-se, mas
depois Edite chamou-a, pois ainda tinham dois barracões para aviar.
Os ingleses riram-se, mas a francesa não retribuiu o gesto.
O barracão onde entraram, que seria o penúltimo da tarde,
estava mais cheio do que os outros. Ouviram falar alemão e Edite
torceu o nariz, o espaço estava atolado em demasia.
– Podes falar na língua deles?
Carol tentou, mas os detidos não se mostraram interessados,
ninguém lhe disse onde estavam os feridos. Então, levantou um
maço de cigarros e viu alguns dedos no ar.
– Vai buscar mais cigarros – pediu à francesa.
Edite saiu, seguida por um dos guardas. O outro recuou até à
entrada do barracão, nervoso com os olhares dos presos. Carol
escutou-os, diziam que era fácil apoderarem-se da espingarda, só
um guarda não os ia conter. Mas logo uma voz apelou ao juízo, de
que lhes valia uma espingarda? Alguém contestou, fariam refém o
soldado, bem como a enfermeira, geravam um motim!
De súbito, um homem alto agarrou-a pelo braço, mas Carol
olhou-o sem hostilidade e, em alemão, perguntou se estava doente,
precisava de remédios, queria chocolates ou cigarros. O prisioneiro
manteve o olhar rígido nela e a minha prima avisou-o do perigo que
corria.
– Ainda acabas morto – murmurou em alemão.
Nesse momento, o segundo guarda reapareceu à porta e, ao ver
o que se passava, tirou a espingarda do ombro e apontou-a ao
prisioneiro, ordenando-lhe que se deitasse no chão.
– Queres cigarros? – insistiu a minha prima.
O homem, zangado, ignorou-a e recolheu-se a um canto. Os
restantes presos olharam-na, ressentidos, como se ela fosse uma
traidora. Mais nenhum quis cigarros nem chocolates.
– Ainda nos falta um barracão – lembrou Edite, à porta.
De volta ao exterior, a minha prima viu Mary à conversa com os
dois ingleses. O que fora chamar Rover ainda não regressara.
Inquieta, entrou no último barracão, onde os prisioneiros também
eram judeus alemães, mas menos agressivos do que os anteriores.
Provavelmente, existira uma seleção natural, semelhante à que
Darwin explicara no seu célebre livro A Origem das Espécies. Os
outros eram os mais fortes, estes, os mais fracos.
Havia pelo menos sete doentes, com febres e indisposições,
mas também alguns feridos, um deles com um pé torcido a jogar
futebol. Carol teve de lhe ligar o tornozelo, o que demorou mais
algum tempo. Não parava de pensar em Rover, mas acabou o
trabalho e ainda auxiliou Edite a distribuir cigarros e chocolates.
Quando saiu finalmente daquele triste lugar, o seu coração deu
um pulo e ficou sem ar nos pulmões. Rover estava à porta do
barracão dos ingleses, junto a Mary e aos três compatriotas, à
espera dela.
– Está mais magro – comentou Edite, que já sorria ao piloto.
50
Gurs, 18 de outubro de 1940
Carol sentiu tonturas, os joelhos quebrados e as pernas bambas,
enfim, tudo o que sente alguém quando revê o seu amor. Era como
se mais ninguém, nem Mary Bowles, nem sequer Edite, estivesse a
seu lado. O universo inteiro convergiu unicamente para aquela
pessoa, sugando tudo o resto, que não passava de névoa e silêncio.
Rover e o seu queixo sulcado, a testa vasta, o cabelo ralo, o nariz
duro, os olhos profundos buscando os dela, o coto escondido, a
maçã-de-adão quieta, um sorriso a bailar nos lábios e uma
tranquilidade notável, como se a esperasse há mil anos e soubesse
que viria.
– És tu – disse o piloto.
Ela aproximou-se lentamente, a voz presa na garganta e infinitas
recordações, até uma preocupação aparecer: Rover estava mesmo
mais magro.
– Agora és enfermeira? – perguntou ele, a sorrir.
A um metro, Carol queria tocá-lo, abraçá-lo, mas algo a conteve,
o perigo, os guardas franceses atentos a qualquer sinal inesperado,
espingardas ao ombro.
– Cruz Vermelha – esclareceu Edite. – És duro de roer,
pensámos que tinhas morrido.
Rover nem a olhou, fixado em Carol, o que agradou à minha
prima. Também como se mais nada existisse para além dela. Mas
pegou na deixa da francesa.
– Levei um tiro.
Carol sentiu uma dor na barriga, como se uma bala a tivesse
magoado também e foi isso que a fez falar finalmente.
– Soube que estavas vivo e quis vir, ofereci-me como voluntária.
– Obrigado – disse ele. Tivera sorte. – Tivemos sorte – corrigiu,
apontando para os outros ingleses. – Duas vezes. As balas não nos
mataram e viemos para Gurs. Aqui não há nazis.
– Estás mais magro – afirmou Carol.
– Come-se mal – lembrou Rover, encolhendo os ombros. A
barriga dava-lhe muito desassossego.
– Ainda te dói? – perguntou ela.
– Às vezes – as digestões das mistelas que lhes davam a comer
eram más, nem sempre o estômago aguentava.
– O nosso também não – acrescentou Billy.
– É por isso que nos queremos ir – murmurou Rod.
Mary tossiu, dando a entender que aquela era uma conversa
proibida.
– Passem bem. Voltamos daqui a dois dias.
– Já? – perguntou Carol, aflita. Não queria deixar Rover, nem
sequer o pudera abraçar, quanto mais beijar, que era o que mais
desejava.
– Sim – impôs Mary Bowles.
A enfermeira holandesa já se afastara, a caminho do camião. A
distribuição do dia estava terminada, mas Carol não se mexeu.
– Vão andando – pediu.
Enquanto os três ingleses se recolhiam no barracão, Mary
Bowles ergueu um dedo, dava-lhe um minuto, não mais. Edite
juntou-se aos guardas que as tinham acompanhado e disse
qualquer coisa, a minha prima não percebeu o quê, mas sentiu-se
grata, a francesa estava a ganhar-lhe tempo.
– Nunca deixei de pensar em ti, nem mesmo quando te julguei
morto – garantiu Carol.
– Nem eu – disse o piloto inglês. – Foi o que me fez viver.
Ela suspirou.
– Só soube que estavas vivo no final de julho.
Rover sorriu.
– É um milagre teres vindo aqui.
Quando ela disse que agora não o queria deixar, ele sorriu outra
vez.
– Mas é preciso que vás. Tens cigarros?
Carol levou a mão ao bolso da bata, guardara um maço para lhe
dar. Ele agradeceu, notando que eram Gauloises, como em Paris,
mas ela já começara a chorar e secou uma primeira lágrima.
Quando Rover perguntou pela Hirondelle, fungou.
– Ficou em Lisboa, em casa do meu primo Jack. Ele ajudou-me
muito, até arranjou bilhetes num barco, para a família da Sara.
No tom de voz dela, o inglês detetou tristeza e por isso franziu a
testa.
– Chegaram bem a Portugal?
Carol mordeu o lábio.
– Partiram todos para a América, exceto o Marcel. A Gestapo
matou-o, à minha frente.
Rover cerrou os dentes.
– Cães. Magoaram-te?
A minha prima abanou a cabeça.
– Só no coração.
O piloto perguntou se ela ia voltar a Paris, para estudar, e Carol
garantiu que primeiro ia tirá-lo dali. Ele gostou da convicção dela.
– Despacha-te. O meu estômago não aguenta mais!
Ela prometeu voltar e o piloto pediu-lhe que trouxesse mais
cigarros.
– Isto é insuportável sem eles.
Carol olhou-o mais uma vez e depois afastou-se. Os guardas
miraram-na, curiosos, mas Edite bamboleou-se, distraindo-os. Ao
passarem o portão do campo, a francesa ainda lhes atirou dois
beijos soprados e eles riram-se, cheios de ilusões.
– Obrigado – agradeceu Carol.
Quando Edite disse que a conversa fora muito proveitosa, pois já
sabia as horas de mudança de turnos, a minha prima pediu-lhe que
reportasse a Mary, para a inglesa confiar nela.
– Nem no dia em que Cristo descer à Terra! – queixou-se Edite.
– Pelo menos, tenta – pediu Carol, antes de revelar a sua aflição
com a fragilidade de Rover.
– Se resistiu desde junho, vai aguentar mais uns tempos! –
sentenciou a francesa, procurando animá-la.
Desolada, a minha prima lembrou que Mary não o queria levar
para Marselha, pois já não era útil para a guerra, ao contrário dos
outros três ingleses. Então, uma enervada Edite declarou ser puta
por necessidade, enquanto a inglesa o era por escolha.
– Também podias ser enfermeira – disse a minha prima. – Tens
jeito para falar com os feridos.
A francesa abanou a cabeça, só parecera assim porque tratara
de homens, se fossem mulheres era incapaz.
– Ou crianças. Lembravam-me a minha filha.
A menina vivia em Paris, com os avós paternos, que não eram
judeus, explicou Edite, acrescentado que raramente a via. O pai era
soldado, a última vez que soubera dele estava perto de
Dunquerque, se calhar morrera por lá.
Carol percebeu que ela já não tinha afeto pelo homem que a
engravidara, mas sentiu uma súbita necessidade de demonstrar o
seu.
– Gostava de ter um filho do Rover.
Edite suspirou:
– Primeiro tens de o tirar daqui!
Quando entraram no camião, Mary enfureceu-se por Carol ter
ficado para trás, pois podia colocá-las em perigo. A minha prima
baixou os olhos, mas Edite veio em seu auxílio, contando os
detalhes apurados sobre o funcionamento do campo. Mary Bowles
acalmou, agradada com as informações, mas Carol voltou a enervá-
la quando lhe explicou as suas intenções. A inglesa preparava-se
para repreendê-la, mas a minha prima não a deixou falar.
– Fogem ao mesmo tempo, levas os três e eu o Rover.
Após uns segundos em silêncio, Mary Bowles surpreendeu-a.
Havia uma ilha especial, do lado esquerdo, para os que tinham sido
apanhados.
– Chamam-lhes os retaliados. Mas há quem consiga escapar.
No mês anterior, Fry levara para Marselha alguns judeus
alemães.
– O americano pode ajudar-me? – perguntou Carol.
A inglesa não lhe respondeu.
51
Gurs, 20 de outubro de 1940
Durante os dois dias seguintes, Carol viveu uma espécie de
delírio, misturando as recordações da viagem, cujos fragmentos
tentava alinhar como peças de um puzzle, com a imaginação
antecipatória de uma emocionante fuga. Tanta fantasia gerou-lhe um
nervosismo alegre, mas profundamente ansioso, que a iluminava ao
mesmo tempo que perturbava. A realidade de Pau começou a
passar-lhe ao lado e muitas vezes não ouvia o que Edite ou Mary
lhe diziam.
– Quero-o tanto, a minha cabeça parece que rebenta –
desabafou na segunda noite.
Edite riu-se.
– Estás de todo.
– Achas que o consigo ver amanhã? – perguntou Carol a Mary,
quando esta reapareceu para se deitar.
A antipática inglesa não considerava isso importante. Só queria
saber da fuga, nada podia falhar.
– O Fry vai esperar por eles.
– O americano pode ajudar-me?
Mais uma vez, Mary ignorou a questão da minha prima. Se os
três ingleses conseguissem chegar ao carro de Fry, já ninguém os
apanharia até Marselha.
– Sabes de alguém que tenha um carro em Pau? – perguntou
Carol.
A inglesa não conhecia ninguém e, inquieta e sem soluções,
nessa segunda noite a minha prima teve enorme dificuldade em
adormecer, e de manhã acordou mais tarde. Não viu Edite, que só
regressou quando as enfermeiras já subiam para o camião.
– Onde foste? – perguntou Mary Bowles, sempre desconfiada.
– Comer uma baguete. Porquê? – ripostou a francesa.
A outra alegou que ela não devia desaparecer sem avisar, mas
Edite encolheu os ombros. Entraram no camião, enervadas, e
mantiveram-se caladas até chegarem a Gurs. Após o ritual do
costume junto ao portão, as enfermeiras emparelharam, mas foram
seguidas por soldados que não eram os da primeira vez.
– É mau sinal? – murmurou Carol.
– É indiferente – respondeu a francesa, ainda irritada.
As visitas aos barracões iniciaram-se, agora do lado esquerdo da
alameda central. Até à hora do almoço não se passou nada, mas
quando o rancho dos prisioneiros começou a ser distribuído, Carol
tentou observar a ilha onde o inglês se encontrava. O seu coração
bateu mais forte, pois Rover viu-a e caminhou para a saída da ilha,
ignorando o almoço. Como se fosse distribuir chocolates ou
cigarros, Carol foi ao encontro dele.
– Não vais comer?
Rover parou a um metro dela e sorriu.
– Para ficar maldisposto?
Quando a minha prima lhe disse que precisava de se alimentar,
ele perguntou onde estavam os guardas dela e Carol anunciou que
tinham ido almoçar com Edite, de quem andavam sempre de roda.
– Confias nela? – questionou o piloto.
A minha prima franziu a testa. Não havia razões para o contrário
e Edite soubera coisas importantes, como os horários dos guardas.
– Vou fugir com os outros – interrompeu ele, contando que os
três ingleses tinham cavado um buraco, por baixo da vedação, nas
traseiras da ilha deles. E Mary arranjara-lhes um carro, que os
levaria até Marselha.
– Temos de conseguir um para ti – disse Carol.
Para grande surpresa dela, Rover adiantou que já tratara desse
assunto. A minha prima deveria esperar à saída de Pau, na estrada
que ia para Gan.
– Procura um Chevrolet vermelho.
Carol ficou estupefacta.
– Quem te leva a Pau?
– Confia em mim – pediu o inglês.
A fuga aconteceria na noite de 22 de outubro, pois no dia
seguinte Hitler e Franco iriam encontrar-se em Hendaia, e os nazis
estariam entretidos, ninguém se ia preocupar com Gurs.
– Como sabes tudo isso? – interrogou ela.
Rover revelou que os amigos ingleses estavam a preparar a fuga
há mais de um mês.
– E eu também. Já consegui carro e bicicleta.
Ela riu-se.
– Mas eu não trouxe a Hirondelle!
– Isso é que foi pena, vai-te custar mais a pedalar.
Após acender um cigarro, o piloto mencionou um casal que
ajudava pessoas a fugir pelos Pirenéus, a quem pedira uma
segunda bicicleta.
A minha prima suspirou, ligeiramente dececionada.
– Afinal, não precisas de mim.
Rover semicerrou os olhos. Billy, Rod e sobretudo Newt
achavam que ele não ia conseguir. Estava fraco e vomitava muitas
vezes, subir os Pirenéus seria um tormento.
– Contigo talvez tenha sorte.
Carol sentiu o desespero dele, farto da comida do campo e
rejeitado por não ser prioritário para o MI9. A vertigem suicida que
exibira no hospital de Paris emergia subtilmente. Rover ia arriscar a
vida, na fuga e numa subida das montanhas de bicicleta. Tudo
menos ficar ali, naquele terrível campo de Gurs.
– Pau, Gan, dia vinte e dois, meia-noite – repetiu o piloto, como
se enviasse um telegrama. De repente abraçou-a, mas logo a
largou, para que ninguém visse o gesto, enquanto murmurava: –
Amo-te.
Carol viu-o regressar à sua ilha, onde a distribuição do almoço
prosseguia, e colocar-se na fila, à espera da malga, era para aí o
vigésimo, ainda ia demorar até provar aquela péssima sopa. Com
pena dele, a minha prima caminhou para junto do camião, onde
comeu as suas sanduíches, sob o olhar reprovador de Mary.
– A cabra não te vai dar a mão... – rosnou Edite, ao final da
tarde, quando terminaram as visitas aos presos.
Não falaram sobre essa questão durante a viagem, nem durante
o jantar, em Pau, mas já as duas estavam deitadas, a francesa
perguntou quando é que os ingleses iam fugir.
– Na terça à noite – sussurrou Carol.
Edite desaprovou a escolha do dia, o sábado seria mais
indicado. Explicou a logística, as folgas dos guardas, a animação
habitual que o administrador aceitava.
– Nessa noite estão lá todos!
– Foi a Mary quem decidiu – afirmou a minha prima. – Os
ingleses não têm medo dos franceses, só dos alemães.
– Não há nazis em Gurs – recordou Edite.
– Mas há na região. Só que vão estar distraídos – contou Carol,
revelando que se realizava um encontro em Hendaia.
– O Hitler vem cá? Que honra! – exclamou Edite. – Se estivesse
a trabalhar, no dia vinte e três dava descontos!
A minha prima sorriu e disse que Rover também ia aproveitar
essa noite, mas Edite duvidou de que ele se safasse sozinho, no
estado em que estava, alguém teria de o levar a Marselha. Quando
Carol disse que o piloto era muito engenhoso, Edite desconfiou: –
Vê lá onde te metes...
Só teria de esperar por ele em Pau, contou a minha prima,
nomeando o local combinado para o encontro. Então, a francesa
acendeu um cigarro, já não era a primeira vez que o fazia, apesar
de ser um ato proibido na camarata improvisada onde dormiam.
– A Mary sabe disso? – perguntou.
Carol pediu-lhe segredo. Seriam duas fugas simultâneas, mas
autónomas. Rover não iria arriscar a vida dos compatriotas, tinha
encontrado uma solução só para ele.
– Já percebi.
De repente e como se tivesse intuído o óbvio, a francesa revelou
que certas mulheres vinham ao campo, prestar os seus serviços. Os
guardas calavam-se, pois também beneficiavam da presença delas,
que se encontravam com eles e com os presos atrás das casas.
– Ainda fico por cá... – brincou.
A minha prima sentiu um pico de ciúme. Seria possível o piloto
ter conhecido uma prostituta que o ia ajudar? Era melhor nem
pensar nisso. Rover dissera-lhe que o esperasse em Pau, à saída
da cidade. E lá estaria, o resto era com ele.
52
Pau, 22 de outubro de 1940
Na segunda e na terça-feira não foram a Gurs, pois Mary
impedira nova visita das enfermeiras antes da fuga dos ingleses,
para que os guardas não associassem as duas situações. Portanto,
permaneceram em Pau, até que, na terça e antes do jantar, Mary
abalou num carro, avisando que só regressaria dali a cinco dias.
A minha prima revoltou-se, até ao fim a inglesa recusara ajudar
Rover, mas Edite mostrou-se mais preocupada com ela.
– Queres que fique contigo até o inglês chegar?
– À noite não costumas estar... – contrapôs Carol, que por
diversas vezes acordara e não a vira deitada na cama ao lado.
A francesa contou que, logo na primeira noite, tinha ido a um
café, a uns quarteirões do local onde estavam instaladas, onde
conhecera um cliente com quem combinara uns encontros, para
ganhar algum dinheiro.
– A história da minha vida. Mas hoje faço-te companhia.
Desde que tinham regressado a França, o humor e o
desbragamento verbal de Edite, tão presentes na viagem desde
Paris, estavam quase sempre ausentes. Carol concluiu que ela
mudara e, embora o vício do ofício e sobretudo o interesse
monetário ainda lhe comandassem a vida, parecia menos tola.
– Obrigada – agradeceu, roendo as unhas.
Mais nervosa a cada minuto que passava, contou que Rover ia
fugir pelo mesmo sítio que os outros, imediatamente após estes
saírem do campo. Porém, enquanto os compatriotas se
encontrariam com Mary e Fry, o piloto optara por outra solução, um
Chevrolet vermelho ia buscá-lo a Gurs, trazendo-o depois até Pau.
– Vermelho? – perguntou Edite, franzindo a testa.
– Viste algum aqui? – quis saber Carol.
A francesa reparara em automóveis à porta dos cafés e dos
restaurantes, mas nenhum dessa cor.
– Será do americano?
Carol não fazia ideia, Rover apenas lhe indicara o local do
encontro, numa estrada à saída de Pau e que se dirigia a Gan.
– Vão para as montanhas? – espantou-se Edite.
Carol sorriu.
– Vamos subir os Pirenéus numas bicicletas.
A francesa franziu a testa.
– De certeza que ele conheceu alguém!
A minha prima suspirou, havia tanta coisa que desconhecia
sobre a vida de Rover no campo. Quando não vemos uma pessoa
há muito tempo, mas sabemos onde esteve, na prisão, por exemplo,
é-nos relativamente fácil imaginar a dificuldade dela em dormir e a
dureza do colchão, a tensão com os guardas ou a existência de
terceiros em situação semelhante. Contudo, já nos é difícil imaginar
que, além disso tudo, essa pessoa ainda fez outras coisas, muitas
delas inesperadas. A Carol, por exemplo, nunca lhe passara pela
cabeça a hipótese de Rover planear uma fuga ou de se encontrar
com outras mulheres.
– Os guardas dizem que todos os meses foge alguém de Gurs,
mas quase todos são apanhados – lembrou Edite.
Carol mordeu o lábio. Para estar em Pau à meia-noite, Rover
teria de escapar do barracão entre as dez e as onze. A hora de
maior perigo aproximava-se.
– Sabes se já mataram alguém?
Edite confirmou, com um leve acenar de cabeça.
– No mês passado, dois franceses, comunistas. Só andaram um
quilómetro.
A minha prima benzeu-se e pediu a Deus que não lhe pregasse
essa partida depois de tudo o que passara.
– Mas Rover não pode morrer duas vezes – sentenciou Edite.
Riram-se as duas e logo uma das americanas protestou com o
barulho, exigindo-lhes que se calassem.
– Que chata – resmungou a francesa, baixando o tom de voz
apenas um pouco. – O que vais levar?
– Só o meu saco – murmurou Carol.
– Vão para Portugal? – perguntou Edite.
– Se o Rover quiser...
Por volta das onze e meia, as duas vestiram o casaco por cima
das batas e Carol pegou no saco. Sem fazerem barulho, deixaram a
camarata e saíram para a rua, onde a minha prima olhou para
ambos os lados, com dúvidas de orientação.
A francesa gozou-a.
– Ai se eu não estivesse aqui!
Avançaram pela rua e viraram numa esquina e pouco depois
noutra. Quando passaram por um café, Edite contou que fora ali que
encontrara o tal cliente. Continuaram a caminhar até chegarem a um
cruzamento.
– Por ali – indicou a francesa.
Prosseguiram mais dez minutos, aproximando-se da saída da
cidade, até que Edite parou, junto a uma tabuleta que dizia Gan.
Como o chão estava coberto de geada, permaneceram de pé. A
francesa acendeu um cigarro e algum tempo depois outro, e só no
final deste é que viram uns faróis que se aproximavam, pela estrada
que tinham percorrido a pé.
Inquieta, Carol só teve a certeza de que o carro era vermelho
quando este parou, a cinco metros dela. O seu coração apertou-se
ao ver ao volante uma mulher, que manteve o motor ligado, a
ronronar baixinho. Ao lado dela estava outra mulher, que abriu a
porta e saiu para a estrada. Era alta e loura e vestia um casaco
longo, mas debaixo deste trazia umas calças e usava umas botas
de homem. Um arrepio de desconfiança atingiu a minha prima, até
que a loira falou.
– Vamos!
Carol ficou perplexa, pois aquela era a voz de Rover, embora
fosse uma mulher que a chamava, com uns óculos escuros
pousados no nariz.
– Sou eu, entra no carro! – repetiu a voz.
Rover mascarara-se, era mesmo ele, conseguira fugir de Gurs!
Carol abraçou Edite, mas esta agarrou-a, como se não a quisesse
deixar ir. A minha prima reparou que a francesa estava muito pálida
e parecia angustiada, por isso sorriu-lhe.
– Toma conta de ti. E vai para enfermeira, deixa essa vida, não
te faz bem...
Edite tinha os olhos molhados e apenas murmurou: – Desculpa.
Mas Carol nem a ouviu, pois já corria para o Chevrolet vermelho,
onde abraçou o piloto antes de ambos entrarem no automóvel.
– A Edite veio trazer-te? – perguntou Rover, já dentro do carro.
Carol confirmou e reparou que ele olhou para a mulher que
estava ao volante, franzindo a testa.
– O que foi?
– Nada – respondeu o piloto.
Pouco depois, começou a contar a fuga de Gurs. Os três
ingleses tinham partido, às dez da noite em ponto, pelo local
combinado. Nenhum alarme soara e logo a seguir ele fugira
também, por baixo da vedação. Andara no escuro mais de
quinhentos metros, atravessando o arvoredo, até chegar ao local
combinado com Mary.
– Com quem? – surpreendeu-se Carol.
Afinal, a inglesa ajudara Rover. Não o levara para Marselha, mas
enviara uma mensagem a Jacqueline, disse o piloto, apresentando a
condutora do Chevrolet, uma senhora de quarenta anos, de olhar
severo, que não devolveu o tímido sorriso esboçado por Carol.
– Ela e o marido vão ajudar-nos – afirmou o piloto. – Mas estão
muito preocupados. Tens a certeza de que ninguém vos seguiu?
53
Lago de Fabrèges, 23 de outubro de 1940
O Chevrolet vermelho já rodava a caminho dos Pirenéus há mais
de vinte minutos quando Rover teve finalmente coragem para dizer
à minha prima o que atormentava a condutora, que continuava
muda ao volante, sem tirar os olhos da estrada.
– O marido da Jacqueline está à nossa espera no lago.
Esperemos que o Mercedes não nos siga... – o piloto inglês
aguardou, para ver se a referência à marca do carro perturbava
Carol, mas, cansada e nervosa e ao mesmo tempo contente por ele
ter conseguido fugir, a minha prima não reagiu. – Andou um
Mercedes negro em Pau, nos últimos dias – insistiu Rover, num tom
mais alto.
– Um Mercedes negro? – agitou-se Carol.
Um carro da Gestapo aparecera na cidade durante o fim-de-
semana. Discreto, circulava sobretudo à noite, entre as dez e as
duas da manhã, com três homens lá dentro.
– Passaram várias vezes em frente do vosso dormitório – contou
o piloto.
– Será o coronel Schlezinger? – perguntou Carol.
Rover nem hesitou.
– Sim. Mas não anda atrás dos outros ingleses, deixou-os ir para
Marselha.
A minha prima sentiu um arrepio de medo. Schlezinger
reavivava-lhe recordações sinistras.
– Que faz ele em Pau?
– Confias na Edite? – voltou a perguntar Rover.
Carol recordou o reencontro no Consulado francês, em Lisboa.
Convencera-a a vir para Marselha e, embora Mary não tivesse
aprovado aquela companheira, Edite sempre fora leal e prestável.
– É uma prostituta. Vendeu-se aos alemães – rosnou Jacqueline.
– Não acredito! – indignou-se Carol.
A condutora não tirou os olhos do asfalto, mas alegou que Edite
fora vista junto ao Mercedes, umas noites antes. A minha prima
mordeu o lábio, sabia que a francesa saíra do dormitório diversas
vezes. Seria possível que a tivesse traído? Um desagradável mal-
estar nasceu-lhe no estômago, quando se recordou de que Edite
falara com Marrano, ainda no aeroporto de Lisboa. Teria ela
passado informações à PVDE? O polícia português podia ter
informado Schlezinger da partida delas para Marselha... Mas para
quê? Sara já partira e o coronel matara Marcel, o que desejava
agora?
– É a ti que ele quer – constatou Rover.
A condutora do Chevrolet confirmou: Mary Bowles dissera-lhe
que a Gestapo seguira os passos de Carol até Gurs. Porém e
apesar desse risco, aceitara transportar Rover. «Só porque era ele.»
A minha prima sentiu ciúmes desta mulher, mas a sua outra
preocupação era ainda mais forte e sobrepôs-se. O coronel não lhe
perdoava ter afastado Sara. Não lhe chegara assassinar Marcel e
atirá-lo ao mar, agora queria também matá-la.
– Porque te seguem? – perguntou Rover.
De repente, Carol começou a tremer, intuindo as razões para
aquela perseguição. O coronel não queria apenas matá-la. Se fosse
só isso, tê-lo-ia feito em Portugal, dando-lhe um tiro na nuca, na
Boca do Inferno, após assassinar Marcel. O coronel queria causar-
lhe o máximo dano possível. Se ela lhe tirara Sara, ele ia tirar-lhe
Rover... Schlezinger também queria matar o piloto!
– Quer vingar-se – resumiu Carol, sem mais explicações.
A partir dali e durante as duas horas que demoraram até ao lago
de Fabrèges, à beira do qual Jacqueline e Pierre tinham uma
pequena casa de montanha, os três ocupantes do Chevrolet
viajaram calados. Mas, quando desligou o motor, a condutora
pareceu aliviada.
– Talvez os tenhamos despistado – disse Jacqueline.
Rover saiu do carro, já sem a cabeleira, o longo casaco e os
óculos escuros. Carol sentiu o coração tolhido, estavam perto das
montanhas, mas o perigo espreitava e a culpa era dela.
– Perdoa-me – murmurou e ele abraçou-a.
À porta da casa de madeira, foram apresentados a Pierre, um
homem muito magro, mas rijo e de expressão dura, que lhes indicou
um quarto. Quando se deitaram na cama, Carol contou o acordo
estabelecido entre a amiga e Schlezinger para possibilitar que a
mãe e a avó de Sara fossem também para Portugal. Obtido esse
feito, o coronel foi rejeitado e a sua fúria fora imensa. O alemão
retaliara não contra o objeto do seu amor, que entretanto partira
para a América, mas assassinando Marcel, a cuja morte obrigara a
minha prima a assistir.
– Não lhe chegou – concluiu Rover.
Carol aninhou-se nele.
– É pior que isso. Veio atrás de ti.
O piloto ficou em silêncio uns segundos. Finalmente
compreendera a verdadeira razão para Mary não o levar para
Marselha.
– Ela desconfiava de que a Gestapo te seguia e afastou-me para
salvar os outros.
– A culpa é minha... – murmurou Carol. – Convenci a Edite a vir
comigo, a Mary não a queria por perto.
Fosse como fosse, tinham algum tempo de avanço, Edite não
sabia onde eles estavam, lembrou o piloto. Se a Gestapo não os
parara à saída de Pau, seria difícil a Schlezinger descobrir o
paradeiro deles. Mas o tempo urgia.
– Vamos!
– Vais passar mal – lembrou ela.
– Antes isso que ver-te morrer – ripostou ele.
Levantou-se e foi bater à porta do quarto de Pierre e Jacqueline,
explicando-lhes a sua vontade e avisando que o casal devia
regressar imediatamente a Pau, enquanto ele e Carol subiam a
montanha nas bicicletas.
– De noite, é perigoso, vão perder-se e gastar energias sem
sentido – contrapôs Jacqueline. – Esperem pela madrugada.
Rover avisou que eles também corriam perigo, a Gestapo podia
matá-los, mas a mulher de Pierre não se impressionou.
– Conhecemos as montanhas como as nossas mãos. Não nos
apanham com facilidade. Descansem três horas – ordenou ela,
acrescentando que o marido iria levá-los até ao lago d´Artouste
pelos penhascos, por caminhos que os alemães jamais se
atreveriam a seguir.
– A partir daí continuam sozinhos – continuou Pierre.
Carol e Rover teriam de carregar as bicicletas até um segundo
lago, que ficava já em Espanha, chamado Arriel Alto, depois do qual
desceriam até ao rio Águas Limpias, encontrando por fim o trilho
para a aldeia de Sallent de Gallego.
– Levam comida e água para dois dias – rematou Jacqueline.
– Têm armas? – perguntou Rover.
Pierre tinha uma espingarda, mas não a podia emprestar.
– A Jacqueline vai ficar sozinha em casa – justificou-se o
francês.
Desapontado, o piloto regressou ao quarto, seguido por Carol,
enquanto os anfitriões lhes preparavam os mantimentos.
– Devíamos ir ajudá-los – disse Rover, já deitado.
– Não – pediu Carol. – Quero abraçar-te.
Aninharam-se um no outro e deixaram-se ficar quietos, a ouvir o
som de ambas as respirações. A minha prima sentiu-se feliz e até
com desejos, mas quando o começou a tocar, o piloto fechou os
olhos.
– Não funciona desde o tiro.
Carol beijou-o, mas não chegou a dizer-lhe mais nada, pois
alguém bateu à porta do quarto. Era Pierre, que, sem abrir a porta,
avisou: – Vem aí um carro. Temos de ir já.
54
Lago de Fabrèges, 23 de outubro de 1940
Carol e Rover pularam da cama e dirigiram-se à sala, onde
estavam duas mochilas no chão e uns casacos em cima da mesa.
Jaqueline já tinha a espingarda carregada e apontava para a janela.
O lago era comprido, mas vira uns faróis na estrada e àquela hora
os habitantes da aldeia não circulavam.
– É o Mercedes da Gestapo.
– Vamos! – exigiu Rover.
Foi o primeiro a sair, com os mantimentos às costas e ainda a
vestir o casaco emprestado por Pierre, que lhe ficava grande. Carol
colocou o seu à pressa e despediu-se de Jacqueline.
– Boa sorte – desejou a francesa de olhar severo.
Pierre encaminhou-os para um alpendre de madeira, onde se
encontravam as duas Peugeot, já com alguns anos, uma delas para
mulher. Quando avisou que a de Rover apresentava problemas no
travão de trás, este esboçou um sorriso.
– Já estou habituado.
Levaram as bicicletas pela mão, afastando-se na direção das
montanhas. De noite, os nazis nunca os iam apanhar, garantiu
Pierre, mas Rover estava preocupado com Jacqueline. O francês
riu-se e disse que a esposa era dura de roer. Viver ali não era fácil,
sobretudo para uma mulher.
Carol concordou em silêncio, jamais habitaria naquele local
inóspito. Adorava cidades, o movimento permanente, gente por todo
o lado. De repente, sentiu saudades de Lisboa, de olhar o Tejo, da
luz branca da sua capital. Nos últimos meses, sofrera a nostalgia de
Paris, onde fora tão feliz, mas ali naquelas montanhas, com o perigo
a espreitar, o seu coração exigia Lisboa. Apeteceu-lhe sentar-se
numa esplanada e comer os iogurtes búlgaros de Viktor e Gertrud,
na companhia de Rover.
– Aonde é que a Jacqueline vai às compras? – a pergunta era
forçada, pois não simpatizara com a francesa e até tivera ciúmes da
forma como esta falava com Rover, como se gostasse dele.
– Laruns é o vilarejo mais próximo – informou Pierre.
– Pelo menos, aqui não houve guerra – congratulou-se Rover.
Contou que era piloto da RAF e que o seu Spitfire fora abatido em
maio, na Bélgica. O para-quedas ficara preso num telhado, ferira-se
e fora amputado da mão direita. – Não posso voltar a voar.
Para o animar, Carol defendeu que talvez a guerra acabasse
mais depressa do que pensavam, mas Rover garantiu que não seria
assim. A Inglaterra estava a ser constantemente bombardeada
pelos nazis.
– Cidades, vilas e aldeias, tudo massacrado – disse o piloto.
– O Hitler vai invadir-vos? – perguntou Pierre.
Quando o inglês respondeu que era provável, o francês
contestou-o. Desembarcar um grande exército na Grã-Bretanha
seria difícil, pois não havia uma fronteira terrestre, como existia nas
Ardenas, onde os alemães só tinham precisado de acelerar os
tanques.
– Nem demos luta. A França caiu sem honra.
– Os panzers do Rommel são muito rápidos – alegou Rover,
crente de que essa verdade faria o marido de Jacqueline sentir-se
menos mal com a derrota da pátria.
– Um deles quase nos atropelou em Paris – recordou Carol.
– Estava lá? – estranhou Pierre. – Mas é portuguesa...
Por ser estudante na Sorbonne, a minha prima vivia na capital
francesa desde o verão de 1938. Porém e como grande parte da
população da cidade, tivera de fugir quando os alemães se
aproximaram. Fora nesses dias que conhecera Rover, num hospital.
– Avariado da cabeça! – exclamou.
– Ela salvou-me – murmurou o piloto.
Pierre perguntou se a minha prima também trabalhava com a
Cruz Vermelha, como Jacqueline, mas Carol disse que em Paris
não, apenas combinara um encontro com uma americana, chamada
Polly, que entretanto desaparecera, pois o hospital fora evacuado.
– Só restavam Rover e um gato cego.
– Quem ficou com o Chamberlain? – perguntou o piloto.
Carol ainda não lhe contara que o gato morrera em Vilar
Formoso, saudoso dele. Mas aquele não era o momento certo para
o fazer, por isso mentiu.
– O meu primo Jack, em Lisboa.
Rover justificou-se do batismo do gato, fora em honra do anterior
primeiro-ministro inglês, um tolo que acreditara na palavra de Hitler.
– Churchill é mais teso – apreciou Pierre. – Gosto dele, careca e
sempre de charuto.
– Como tu... – murmurou Carol, tocando no braço de Rover.
– Perdi os charutos em Hendaia – queixou-se ele.
A minha prima recordou que, ainda em Paris, ouvira um forte e
empolgante discurso de Churchill na rádio e ficara arrepiada.
– Infelizmente, não vamos lá só com palavras – resmungou o
piloto.
– As palavras são importantes! – contestou Pierre. – Precisamos
de esperança. Hitler tem de ser derrotado.
O chanceler do Terceiro Reich ia encontrar-se com Franco, em
Hendaia, no dia seguinte, informou Rover, pensando que estava a
dar uma novidade ao francês, mas na região a notícia já corria.
– Se o matassem... – rosnou Pierre.
Como se de um dragão sinistro se tratasse, a presença próxima
de Hitler provocou um súbito silêncio nos caminhantes. Estava uma
noite de luar, por isso Pierre não acendera qualquer lanterna e
continuava à frente deles, escolhendo o sentido a seguir em cada
bifurcação no terreno. Prosseguiram calados algum tempo, até o
marido de Jacqueline dizer que conhecera a esposa em Pau, apesar
de ele ser de Lourdes.
– Terra de milagres – comentou Carol, contando que em Portugal
também existia um local onde a Virgem Maria tinha aparecido a três
pastorinhos, tal como em Lourdes à menina Bernardette.
Contudo, quando pronunciou este nome, recordou-se da
rececionista da Residencial de Saint-Sulpice, que morrera na
estrada de Orleães, o que a encheu de tristeza. Ainda sentia muito a
falta de Madre Mary, a sua segunda mãe.
– Vamos a Lourdes uma vez por ano, eu e a Jacqueline,
agradecer a Deus a nossa vida – revelou Pierre. Vira a mulher pela
primeira vez no mercado de Pau, onde ia com o pai todas as
semanas. Ela estava a comprar couve-lombarda. – Nada romântico,
mas na semana seguinte reencontrámo-nos! – riu-se o francês.
Carol sorriu e contou que Rover e ela tinham iniciado o romance
numa pensão em Orleães. Nas primeiras noites, depois de sair de
Paris, dormiram na berma da estrada.
– Só tínhamos a Hirondelle, ele ia na grelha.
– Mentira! – protestou Rover, garantindo que ao segundo dia
Carol já estava estafada e tivera de ser ele a guiar a bicicleta.
– Tem uma Hirondelle? – admirou-se Pierre. Era uma bicicleta
excelente, melhor do que as Peugeot. – Aqui, nos Pirenéus, é que
lhe dava jeito, há tantas subidas íngremes.
– As suas vão servir – tranquilizou-o Rover.
– Como as devolvemos? – perguntou Carol.
Em Sallent de Gallego, existia uma garagem, onde eles deviam
perguntar por um homem chamado Ignácio.
– Ele depois traz-mas – garantiu Pierre.
Em Espanha, teriam de apanhar um comboio algures, pensou
Carol e, no preciso momento em que ia perguntar onde ficava a
estação mais próxima, ouviram os tiros. Dois, ecoando pelas
montanhas, o som de um diabo à solta.
– É a Jacqueline! – gritou Pierre. – Conheço a minha espingarda!
– Vá ter com ela! – ordenou Rover.
Lívido, o francês explicou-lhes por onde deviam seguir para o
lago d´Artouste e daí até à fronteira. Depois, desejou-lhes boa sorte
e eles nunca mais o viram
55
Lisboa, abril de 1941
Só voltei a ouvir falar de Rover e de Carol seis meses depois
daquela noite em que seguiram, com as bicicletas pela mão, rumo
ao lago d´Artouste e à fronteira espanhola. Foi Mary Bowles quem
me revelou o destino deles, já em abril do ano seguinte, numa das
muitas noites em que dormimos juntos.
Apesar de ela ser casada, amávamo-nos sempre que podíamos
e estava dessa vez a admirar-lhe o rabo (Mary tinha um ótimo rabo),
quando me contou que, meses antes, fora a Marselha e a um
campo de prisioneiros, perto dos Pirenéus.
– A minha prima também, em outubro! – exclamei. – Ia visitar o
namorado a Gurs.
Mary ficou subitamente em silêncio, o que não era costume nela,
pois falava pelos cotovelos, de uma forma histriónica, agressiva e
enervante, que era bastante cansativa. Porém, dessa vez entupiu.
Naturalmente, estranhei e perguntei-lhe porque se calara.
– Jack, como se chama a tua prima? – perguntou ela.
– Carol – esclareci. – Quer dizer, ela chama-se Carolina, mas,
em França, tratavam-na por Caról, com acento no «o», embora os
ingleses e americanos lhe chamassem Cárol, com acento no «a».
Só uma pessoa a tratava por Carrô, mas já morreu.
Como Mary Bowles se voltou a remeter a um profundo mutismo,
contei mais alguns detalhes sobre a vida de estudante de Carol em
Paris, donde fugira quando os nazis tomaram a cidade.
– É uma história incrível, veio até Portugal de bicicleta! –
exclamei. – A meio da viagem, o piloto inglês com quem namorava
morreu em Hendaia, mas depois ela descobriu que afinal estava
preso!
Dito isto, dei-me conta de que assumira que a minha prima
regressara à Sorbonne. Não tivera notícias dela, mas também não
pensara mais no assunto, pois os meus últimos seis meses haviam
sido muito agitados. Ficara noivo de uma portuguesa, acelerava o
Citroën azul, conhecera Michael, dormira com Polly e com várias
inglesas da Embaixada, uma das quais Mary, enfim, não tinha mãos
a medir...
Ainda admitira escrever para a Residencial de Saint-Sulpice,
onde Carol vivera, mas a verdade é que não me preocupara. Aliás,
a Hirondelle, a bicicleta que ela adorava, continuava em minha casa,
à espera do pedido para que a enviasse para Paris.
– Podes esperar sentado... – disse Mary.
Não a ouvi bem, pois, ao afagar o seu espantoso rabo, senti
vontade de a possuir novamente. Ainda lhe dei umas palmadinhas,
antes de me pousar em cima dela, mas Mary não abriu as pernas,
como era costume. Parecia triste e perguntei-lhe de novo o que
tinha.
– A tua prima – resmungou.
Enervada, afastou-me e sentou-se na cama, aproveitando para
acender um cigarro, no qual deu uma passa longa, antes de me
revelar que tinha ido ao campo de Gurs com o americano Fry, na
noite de 22 de outubro de 1940, data que recordava bem, pois o dia
23 desse mês ficara famoso devido ao encontro entre Hitler e
Franco, em Hendaia.
– Fomos recolher três marinheiros ingleses.
– A Carol partiu para Marselha uns dias antes – anotei.
Fora Michael quem lhe apresentara a minha prima, que Mary
aceitara levar para Gurs, como enfermeira. A fuga dos três ingleses
estava já em planeamento e Carol sabia que Rover não era
prioritário para o MI9. Contudo, Mary acabara por auxiliar o piloto,
enviando uma mensagem a uma francesa, cujo marido por vezes
ajudava Fry, transportando fugitivos para Espanha.
– Chamava-se Jacqueline e foi buscá-lo a Gurs, antes de
passarem por Pau, para recolher a Carol. Um erro grave –
acrescentou Mary, pois infelizmente a Gestapo andava a seguir a
minha prima. – Um coronel nazi, chamado Schlezinger.
– Esse tipo é sinistro! – exclamei, conhecedor do que ele fizera,
primeiro a Mademoiselle Laffitte e depois a Marcel.
– Eu sabia que o coronel estava em Pau, mas não disse nada à
Carol e ao Rover, para não os assustar. Só à Jacqueline... – revelou
Mary Bowles.
A francesa guiara um Chevrolet vermelho até ao lago de
Fabrèges, onde o marido dela os esperava. Ao nascer do dia, Pierre
devia ter levado Rover e Carol para as montanhas, mas fora
obrigado a fazê-lo ainda durante a noite, pois o Mercedes da
Gestapo também chegara à aldeia junto ao lago.
– Como é que os alemães souberam? – perguntei, espantado.
– Sempre desconfiei de uma amiga da Carol – rezingou Mary. –
Uma prostituta francesa, chamada Edite.
– A Belle Bouche? Impossível! – exclamei. – Era uma simpatia!
Mary olhou-me, zangada e enciumada.
– Foi essa puta que informou a Gestapo! Claro que, quando
voltei a Pau, já desaparecera.
– O que aconteceu nos Pirenéus? – questionei, ansioso.
Os três alemães tinham morto Jacqueline. O marido encontrara-
a à porta de casa, com quatro balas no peito e outra na nuca.
– Uma carnificina, o Schlezinger é um animal! – revoltou-se
Mary.
Ao ouvir os tiros, Pierre largara Carol e Rover nas montanhas e
voltara para casa, evitando cruzar-se com os nazis, que seguiram
para o lago d´Artouste a pé.
A minha angústia cresceu.
– O Schlezinger apanhou-os?
– Não – respondeu Mary de forma seca.
Apagou o cigarro e levantou-se, para ir buscar uma bebida.
Quando regressou, trazia uma garrafa de brandy e dois copos, mas
vinha pálida e um profundo mal-estar apoderou-se de mim.
– Uma semana depois, voltei com o Pierre ao local onde ele
deixara Rover e Carol, mas não os descobrimos – contou a inglesa.
Fiquei a olhar para ela, na expectativa.
– O que se passou?
Mary Bowles encheu os dois copos, ofereceu-me um e depois de
dar um gole, acendeu o segundo cigarro. Tinha encontrado as duas
Peugeot dois quilómetros à frente do local onde o francês se
separara do piloto e de Carol.
– Tombadas no chão, à beira de um penhasco.
Uma onda de agonia subiu pelo meu estômago, Carol não podia
ter acabado assim. Nem consegui falar, enquanto Mary dava outra
passa no cigarro. A escarpa rochosa era altíssima, mais de cem
metros a pique, impossível de descer. Nem ela nem Pierre tentaram.
Mas não viram qualquer vestígio de Carol ou Rover.
– Voltámos para trás e trouxemos as bicicletas.
Senti-me por momentos aliviado, se os corpos não haviam sido
encontrados, era possível que Carol e Rover continuassem vivos.
Talvez tivessem despistado os alemães. Quem sabe se já estavam
em Espanha, defendi, antes de Mary me roubar as últimas ilusões.
– Não chegaram a Sallent de Gallego, onde deviam entregar as
bicicletas.
Durante algumas semanas, ela e Pierre tinham procurado nas
localidades por perto, francesas ou espanholas, mas ninguém ouvira
falar da minha prima e do piloto.
– Nunca passaram a fronteira.
– Como podes ter a certeza? – questionei.
Mary deu mais um gole na bebida e outra passa no cigarro. Ao
regressarem das montanhas, os nazis tinham passado por casa de
Pierre, onde ficara o Mercedes. O francês escondera-se, mas vira o
último gesto do coronel nazi.
– O Schlezinger pousou no alpendre as botas de Rover.
A minha alma ensombrou-se. Durante a longa e entusiasmante
narrativa que me fizera da sua viagem, Carol não esquecera esse
detalhe: Rover nunca largava as botas e recusara todos os pares de
sapatos que encontrara. Só as tirara uma vez, no hospital, em Paris,
quando estava prestes a dar um tiro no céu da boca. «Um soldado
nunca se mata de botas», fora a frase dele.
– Em Gurs, também as usou sempre – confirmou Mary.
Cheguei rapidamente a uma fatal conclusão. Se já era muito
difícil o piloto ter atravessado as montanhas no estado de fraqueza
em que se encontrava, seria impossível fazê-lo sem botas. Se estas
estavam na posse do coronel Schlezinger, então Rover morrera. E
Carol também.
De súbito, recordei-me do dilema apresentado pelo piloto à
minha prima, no hospital de Paris. O que faria um homem à beira de
um precipício, cercado por três ferozes tigres? Os alemães também
eram três e havia um abismo nas costas dele e de Carol...
Portanto, admiti uma hipótese, em que ainda hoje acredito: o
coronel Schlezinger apenas encontrou as botas de Rover, que
carregou como um falso troféu, como se o tivesse morto, mas na
verdade não o fez. Rover e a minha querida prima Carol não foram
assassinados pelos nazis, apenas decidiram acabar com a vida ao
mesmo tempo, como Romeu e Julieta, as célebres personagens de
William Shakespeare, um escritor de quem Carol gostava tanto!
Ao perceberem que iam ser caçados pelo coronel, que
certamente os mataria com um tiro na nuca, e primeiro a Rover para
fazer sofrer ainda mais a minha prima, tinham-se decidido por um
mergulho na eternidade.
Por isso, Rover tirara as botas, antes de ambos partirem deste
mundo de mãos dadas e a voar, como um dia fizeram, pelas ruas de
Paris, na Hirondelle, a bicicleta que fugiu dos alemães e que tem
nome de pássaro. Uma hirondelle é uma andorinha e é isso que
Carol e Rover serão sempre para mim, duas andorinhas
apaixonadas que migraram para o Céu naquele outono de 1940.
Table of Contents
Ficha Técnica
PARTE I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
PARTE II
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
PARTE III
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
PARTE IV
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
PARTE V
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Você também pode gostar
- A Viúva ClicquotDocumento13 páginasA Viúva ClicquotDaniel LameirãoAinda não há avaliações
- Mina de Vanghel - WikisourceDocumento23 páginasMina de Vanghel - WikisourceDaniela SantosAinda não há avaliações
- A Sala Das Perguntas - Fernando CamposDocumento293 páginasA Sala Das Perguntas - Fernando CamposCésar NovaAinda não há avaliações
- O coração que chora e que ri: Contos verdadeiros da minha infânciaNo EverandO coração que chora e que ri: Contos verdadeiros da minha infânciaAinda não há avaliações
- Livro Saraminda - José SarneyDocumento263 páginasLivro Saraminda - José SarneyIrajayna Lage LobãoAinda não há avaliações
- Saraminda-José SarneyDocumento263 páginasSaraminda-José SarneyWenildo CostaAinda não há avaliações
- O Despertar de Belle - Catherine Roberts (Clássico Histórico)Documento167 páginasO Despertar de Belle - Catherine Roberts (Clássico Histórico)Daniele Cristina S. NascimentoAinda não há avaliações
- Leitura Do Livro - Os Maias - Resumos e ApontamentosDocumento2 páginasLeitura Do Livro - Os Maias - Resumos e ApontamentosMaggie VazAinda não há avaliações
- Os Maias (Por Capítulos) AnáliseDocumento10 páginasOs Maias (Por Capítulos) AnálisemcoleonorAinda não há avaliações
- História de Vida de Maria Eduarda - Trabalho de Português 12º Ano, 1º PeríodoDocumento5 páginasHistória de Vida de Maria Eduarda - Trabalho de Português 12º Ano, 1º Períodosararebelo06Ainda não há avaliações
- Confortavelmente entorpecido: produção e consumo de romances de folhetim na obra Rocambole, de Ponson du Terrail – um estudo acerca da massificação da literatura no século XIXNo EverandConfortavelmente entorpecido: produção e consumo de romances de folhetim na obra Rocambole, de Ponson du Terrail – um estudo acerca da massificação da literatura no século XIXAinda não há avaliações
- William Somerset Maugham Meu Diário de GuerraDocumento105 páginasWilliam Somerset Maugham Meu Diário de Guerratenho que comentaAinda não há avaliações
- Todos os contos originais de Maupassant (traduzido)No EverandTodos os contos originais de Maupassant (traduzido)Ainda não há avaliações
- Resumo de Os Maias - Por CapítulosDocumento6 páginasResumo de Os Maias - Por CapítulosLuís Martins100% (1)
- Sem Familia - Hector MalotDocumento263 páginasSem Familia - Hector Malotmariaa100760% (5)
- Resumo Dos MaiasDocumento1 páginaResumo Dos MaiasLeonorAinda não há avaliações
- Triste fim de Policarpo Quaresma (Coleção Biblioteca Luso-Brasileira)No EverandTriste fim de Policarpo Quaresma (Coleção Biblioteca Luso-Brasileira)Ainda não há avaliações
- Os Maias - ResDocumento7 páginasOs Maias - ResBeatriz PinhoAinda não há avaliações
- Noites de insomnia, offerecidas a quem não póde dormir. Nº5 (de 12)No EverandNoites de insomnia, offerecidas a quem não póde dormir. Nº5 (de 12)Ainda não há avaliações
- Os Maias - Resumos e ApontamentosDocumento11 páginasOs Maias - Resumos e ApontamentosMaggie VazAinda não há avaliações
- Os Maias Word 1Documento14 páginasOs Maias Word 1Ana VarzielaAinda não há avaliações
- O Conde de Monte-Cristo - Alexandre Dumas PDFDocumento1.480 páginasO Conde de Monte-Cristo - Alexandre Dumas PDFGeraldo Petkowicz50% (2)
- A Instrução Dos Amantes - Inês PedrosaDocumento108 páginasA Instrução Dos Amantes - Inês Pedrosaluisa_tavares943Ainda não há avaliações
- Resumos Capítulo I PDFDocumento17 páginasResumos Capítulo I PDFFilipa SalgadoAinda não há avaliações
- Memórias de um adolescente brasileiro na Alemanha nazistaNo EverandMemórias de um adolescente brasileiro na Alemanha nazistaNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (5)
- A Princesa de Cleves de Madame de Lafayette (Análise do livro): Análise completa e resumo pormenorizado do trabalhoNo EverandA Princesa de Cleves de Madame de Lafayette (Análise do livro): Análise completa e resumo pormenorizado do trabalhoAinda não há avaliações
- Ser Preso Político EbookDocumento26 páginasSer Preso Político EbookKissyla VitalinoAinda não há avaliações
- Garcia Marques Viver para ContALaDocumento184 páginasGarcia Marques Viver para ContALacassiavaleriaAinda não há avaliações
- A. F. Caseiro - Maldito MinerioDocumento124 páginasA. F. Caseiro - Maldito MinerioVinicius BastosAinda não há avaliações
- Os Maias 1 PDFDocumento17 páginasOs Maias 1 PDFRoberto AlbuquerqueAinda não há avaliações
- Ensaio - Psicologia - Andressa GoncalvesDocumento6 páginasEnsaio - Psicologia - Andressa GoncalvesAndressaGonçalvesAinda não há avaliações
- Antibióticos X Bactérias - A Corrida Do Século - SuperinteressanteDocumento4 páginasAntibióticos X Bactérias - A Corrida Do Século - SuperinteressanteThais Ewerton100% (1)
- Pan Mutum Do Sudeste SumarioDocumento8 páginasPan Mutum Do Sudeste Sumarioclara22anjoAinda não há avaliações
- Devoção Dos Cinco Primeiros SábadosDocumento2 páginasDevoção Dos Cinco Primeiros SábadosCleiton B CostaAinda não há avaliações
- A Lua No CinemaDocumento5 páginasA Lua No CinemaMilena GuedesAinda não há avaliações
- Vivenciando o Suicídio Na Família Do Luto À Busca Pela SuperaçãoDocumento8 páginasVivenciando o Suicídio Na Família Do Luto À Busca Pela SuperaçãoAndréa Luiza da SilveiraAinda não há avaliações
- Livro Os NazarenosDocumento21 páginasLivro Os NazarenosWeberton HenriqueAinda não há avaliações
- Trabalho Sobre Metodos de Gestao de StockDocumento19 páginasTrabalho Sobre Metodos de Gestao de Stockjoao sitoeAinda não há avaliações
- Psicologia Do Desenvolvimento Da Criança e Do Adolescente - Unidade1Documento13 páginasPsicologia Do Desenvolvimento Da Criança e Do Adolescente - Unidade1Anabela SousaAinda não há avaliações
- Etica No Trabalho PsicopedagogicoDocumento45 páginasEtica No Trabalho PsicopedagogicoProf. Guilherme GonçalvesAinda não há avaliações
- As Heranças Ligadas Ao Sexo Foram Identificadas Primeiramente em Outras Espécies 2024Documento7 páginasAs Heranças Ligadas Ao Sexo Foram Identificadas Primeiramente em Outras Espécies 2024rfernando10Ainda não há avaliações
- Livro de Biologia AveoDocumento171 páginasLivro de Biologia AveoVictor Mbanji100% (5)
- BetoneiraDocumento31 páginasBetoneiraedusampaioAinda não há avaliações
- Homeopatia e Principios Alquimicos - Agricultura OrganicaDocumento186 páginasHomeopatia e Principios Alquimicos - Agricultura OrganicaBruna Ribas Russ100% (1)
- Trabalho 01.1 - Homicídio Privilegiado, Eutanásia e OrtotanásiaDocumento2 páginasTrabalho 01.1 - Homicídio Privilegiado, Eutanásia e OrtotanásiaVanderlei BalsanelliAinda não há avaliações
- Tributacao Do Sistema FinanceiroDocumento21 páginasTributacao Do Sistema FinanceiroSergio Alfredo Macore100% (3)
- Batistas Não São ProtestantesDocumento3 páginasBatistas Não São ProtestantesLásaro G. da SilvaAinda não há avaliações
- Sistema Respiratório - Mini TesteDocumento4 páginasSistema Respiratório - Mini TesteLuís SemeanoAinda não há avaliações
- Edital 31020703Documento16 páginasEdital 31020703WILLIAN OLIVEIRAAinda não há avaliações
- Criptografando e Descriptografando Dados Com NodeJSDocumento10 páginasCriptografando e Descriptografando Dados Com NodeJSPaulo Eduardo TozziAinda não há avaliações
- 2 LISTA DE RESIST 2 ESTRUT 3 Torção PDFDocumento3 páginas2 LISTA DE RESIST 2 ESTRUT 3 Torção PDFfranciscomarcio_engAinda não há avaliações
- Cumprindo A Missão: Marcos 16:15Documento9 páginasCumprindo A Missão: Marcos 16:15William SilvaAinda não há avaliações
- Lista de Aprovados PMDFDocumento445 páginasLista de Aprovados PMDF7z2hbgvpqxAinda não há avaliações
- Memorial Do Convento Capitulo I Recuperado AutomaticamenteDocumento34 páginasMemorial Do Convento Capitulo I Recuperado AutomaticamentelizaAinda não há avaliações
- Artigo Implicações Renais Do Hipertireoidismo Felino - RevisãoDocumento7 páginasArtigo Implicações Renais Do Hipertireoidismo Felino - RevisãoLulua AmaralAinda não há avaliações
- Sombras Urbanas Livro BasicopdfDocumento371 páginasSombras Urbanas Livro BasicopdfLara P. CarvalhoAinda não há avaliações
- Entrevista Com Os Pais Modelo AberasturyDocumento8 páginasEntrevista Com Os Pais Modelo AberasturyNarriman BasilioAinda não há avaliações
- DinoenhuevoDocumento13 páginasDinoenhuevoRiquirran Art100% (14)
- Roteiro para o Trabalho de Educação FísicaDocumento2 páginasRoteiro para o Trabalho de Educação FísicaTulio KuriiwaAinda não há avaliações
- Boas Práticas de Manipulação de Produtos EstéreisDocumento12 páginasBoas Práticas de Manipulação de Produtos EstéreisgbmmmAinda não há avaliações


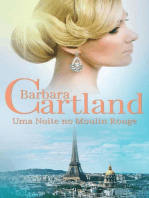



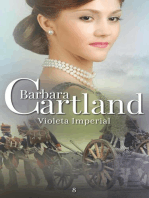




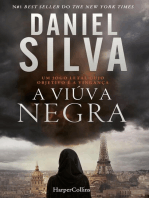





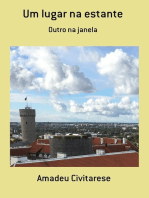


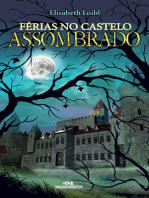

![Paris e uma festa [A Moveable Feast]](https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224769897/149x198/13684d9a56/1708355972?v=1)