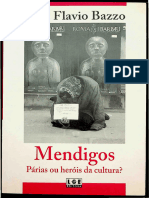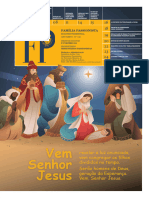Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Texto em Construção
Enviado por
Gabriel SantanaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Texto em Construção
Enviado por
Gabriel SantanaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Bolsonaro, Ilíada, heróis, caricatura com roupagem cristã. Desdobramento?
Ouvimos à exaustão de professores e vendedores de curso que textos clássicos são
perenes e sempre têm algo a ensinar. O fedor mágico da coisa percorre distâncias e nos
intimida com o dever de, tocando o papel, sentir o sobrenatural. Desse feitiço nunca
provei. Mas reconheço: ao ler Homero, Shakespeare ou Dostoiévski, salta a impressão
de que somos todos uns imitadores vagabundos ─ em escrita, pensamento e ato;
impressão de que, ali, cruas e brutas, estão experiências selvagens que emulamos
conscientes ou distraídos. Vejamos os nossos líderes; vejamos nós mesmos.
Lendo os evangelhos, enxergamos catástrofes cotidianas como atos da nossa via crucis
e concluímos que nos cabe suportá-las como Cristo o fez; diante dum romance
romântico, aprendemos que uma paixonite de férias tem a densidade d’uma vida;
encarnando migalhas mal cagadas de Homero, um palhaço se vê como herói épico; e
assim brincamos histórias.
Certa vez, o Presidente da República arvorou-se ao posto de imbrochável. O episódio
chamou minha atenção menos pelo que tem de escatológico do que pela série nele
expressa: no mesmo dia, o Presidente comparou a beleza da penitente que o suporta
com a da Primeira-Dama adversária; noutra ocasião, segurava a mão de uma criança
formando uma arma; ao longo da pandemia de COVID-19, desestimulou medidas de
contenção, afirmando que deveríamos “deixar de ser um país de maricas”; e eu poderia
seguir numa sequência que aspira ao infinito. Se, a princípio, temos a impressão de se
tratar dum adolescente desorientado, logo percebemos, no sujeito, traços caricaturais do
que se entende por heróico.
Não há surpresa: o sujeito é um militar reformado, orgulhoso da sua virilidade
combativa (“Sou militar do exército. A minha especialidade é matar.”). Tal orgulho,
ademais, não se restringe às artes da guerra, mas, como visto, alcança também o que
considera serem seus espólios amorosos. À parte a óbvia distância, as atitudes nos
lembram um Aquiles ou um Agamemnon que, por suas respectivas honras, põem o
destino dos Aqueus em risco por uma bela mulher. Prêmio que, segundo parecia a cada
um, era um espólio que lhe era devido. Atitudes que lembram, ainda, a ânsia de tantos
inomináveis que caíram nas areias da praia de Tróia buscando, em combate, a
eternidade da poesia cantada ou uma memória intocada pela desonra da covardia.
Quando a farsa sobe ao palco, o Chefe de Estado ressalta o valor do seu sacrifício
diário: bem poderia estar fruindo a vida, iguana sob o sol da praia, mas optou pela
guerra contra demônios, bandidos e vagabundos, em benefício da cristandade; fala com
a voz da maioria cristã, ante à qual as minorias são livres para dobrar seus joelhos ─ é
um guerreiro que encara a morte por sua pátria, como Heitor um dia o fez por Tróia.
O sujeito encarna, como caricatura, um ideal que nos é familiar; mas vai além: desenha
no espaço público e na vida dos seus eleitores os contornos da história mítica em que ele
próprio é o herói. Nus, desprotegidos, acovardados na tormenta do desemprego e do
desamparo, um herói cai bem; cai melhor ainda quando, à noite, acende sua chama e
põe à vista a causa do perigo: os corruptos, os degenerados, os vagabundos ─ os que
devem ser curados de viver ou, na melhor das hipóteses, submetidos ao silêncio dos
derrotados.
Como uma caricatura dessas consegue enfeitiçar e dar sentido a tantas vidas ─ a idosos
e adolescentes que dividem seu tempo entre dominó ou Tiktok e as muralhas da
civilização ocidental? Minha hipótese, fazendo uso de um conceito freudiano, é que o
bolsonarismo nos consola da condição de desamparo que nos é essencial como seres
humanos. Frágeis, mortais, em órbita instável, sujeitos à doença, ao frio, à falta de amor
e de um lar. Por vezes, é verdade, nos esquecemos de tudo isso; mas a proximidade da
morte e da ruína cisma em nos assombrar com a lembrança de sermos pequeninos.
Herdeiros, enfrentamos o desafio de apreender a ordem do mundo por meio de
conceitos, histórias e referências do passado. E, na medida em que nossas concepções
são questionadas, patinamos, pressentindo o vazio sob o chão de vidro; ouvimos rachar
as ruínas porosas da civilização perfeita, estática, segura, que nunca existiu, mas não
cessa de cair. O eco dessas rachaduras, por baixo das bravatas televisionadas, não
descansa; é insistente e incorpora diferentes manifestações: a instabilidade das
sexualidades divergentes; o questionamento dos papéis tradicionais atribuídos à mulher;
o anticomunismo que contamina a sociedade cristã; a proteção ao self-made man, em
que todos podem se enquadrar, contra os tentáculos do Estado. Temos à vista um castelo
desmoronar-se e, com ele, também, a esperança de que o mundo seria um lar. Viver é
hostil. Bolsonaristas, como todos nós, querem morada para protegê-los da erosão. Como
estruturas dessa casa, participam o medo, a nostalgia e a revolta contra quem não sabe
permanecer no seu lugar ─ o tempo.
A experiência de frustração das representações do mundo encontra sua cura não no
replantio, mas na terapia aplicada ao próprio mundo, a ser curado. Nisso, nos
encontramos aos montes. A marca do bolsonarismo, por seu lado, está em eleger certos
inimigos como encarnação do processo de decadência do mundo: os petistas/comunistas
ameaçam a estabilidade econômica; as feministas, as posições e expectativas a respeito
dos gêneros; os negros mimizentos (porque há os que conhecem seu lugar), as posições
sociais que cada um merece desde a nascença. É por meio do movimento de retorno ao
éden, onde vivíamos sob o braço gentil de militares e éramos um só povo cristão, que
Bolsonaro e seus idólatras reúnem motivações para fazer do mundo um lar novamente.
É precisamente disso que os inimigos nos afastam: do refúgio no deserto. Que fazer
com o inimigo? Uma vez mais Freud pode nos servir, com sua ideia de que a vida
cultural depende da repressão regular de certos tipos de pulsões, entre elas as pulsões
violentas destrutivas.
O bolsonarismo, para além de reunir certa estrutura de enquadramento da realidade ─
coisa reconfortante por si só ─, justifica e instiga o direcionamento e a liberação de
pulsões agressivas frente aos seus inimigos; pulsões que se convertem em palavras ou,
mesmo, atos violentos. Mais uma vez, não há, nisso, inovação. A marca bolsonarista
está em construir na institucionalidade descreditada por seus idólatras a via mesma pela
qual irá desmoronar. Se, por um lado, o Estado moderno reivindica para si o monopólio
da violência, a institucionalidade bolsonarista, por dentro do Estado, o questiona como
meio propício, fomentando conspirações e redicerionando a agressividade diretamente
para seus inimigos.
Você também pode gostar
- Apostila #2 - Introdução À Análise LiteráriaDocumento5 páginasApostila #2 - Introdução À Análise LiteráriaGabriel SantanaAinda não há avaliações
- Ezio Flavio Bazzo - Mendigos - Párias Ou Heróis Da Cultura - LGE (2009)Documento200 páginasEzio Flavio Bazzo - Mendigos - Párias Ou Heróis Da Cultura - LGE (2009)Gabriel SantanaAinda não há avaliações
- Aristóteles, Uma Breve IntroduçãoDocumento31 páginasAristóteles, Uma Breve IntroduçãoGabriel SantanaAinda não há avaliações
- Rascunho 285 JaneiroDocumento40 páginasRascunho 285 JaneiroGabriel SantanaAinda não há avaliações
- Quatro Cinco Um - A Revista Dos Livros - Chimamanda Ngozi Adichie Sobre Liberdade de ExpressãoDocumento14 páginasQuatro Cinco Um - A Revista Dos Livros - Chimamanda Ngozi Adichie Sobre Liberdade de ExpressãoGabriel SantanaAinda não há avaliações
- Artigo Sobre Literatura e IdentitarismoDocumento14 páginasArtigo Sobre Literatura e IdentitarismoGabriel SantanaAinda não há avaliações
- Admin, A Técnica Do Incidente CríticoDocumento44 páginasAdmin, A Técnica Do Incidente CríticoGabriel SantanaAinda não há avaliações
- Introdução À Northrop FryeDocumento19 páginasIntrodução À Northrop FryeGabriel SantanaAinda não há avaliações
- Template para Currículo de Revisor de TextosDocumento4 páginasTemplate para Currículo de Revisor de TextosGabriel SantanaAinda não há avaliações
- Vida de DostoiévskiDocumento13 páginasVida de DostoiévskiGabriel SantanaAinda não há avaliações
- BagagensDocumento2 páginasBagagensGabriel SantanaAinda não há avaliações
- A Cultura Do Romance PDFDocumento7 páginasA Cultura Do Romance PDFGabriel SantanaAinda não há avaliações
- Transcrição de Documentários e Fichamento de Palestras.Documento13 páginasTranscrição de Documentários e Fichamento de Palestras.Gabriel SantanaAinda não há avaliações
- Só em JesusDocumento1 páginaSó em JesusAdriano QueirozAinda não há avaliações
- Vida Do Apóstolo PauloDocumento10 páginasVida Do Apóstolo PauloJosé Ricardo NascimentoAinda não há avaliações
- Avental Todo Sujo de OvoDocumento39 páginasAvental Todo Sujo de OvoElicarlo SantanaAinda não há avaliações
- Celebrações 2018Documento26 páginasCelebrações 2018Cleide Bernardes de Souza PaulaAinda não há avaliações
- Artigo 6 - Iconografia de Santa Teresa D'ávilaDocumento13 páginasArtigo 6 - Iconografia de Santa Teresa D'ávilaSonia SiqueiraAinda não há avaliações
- Cânticos MOMENTO ADORAÇÃO LivroDocumento10 páginasCânticos MOMENTO ADORAÇÃO LivroEdizio Pereira DouradoAinda não há avaliações
- Tema EBD 16-02Documento12 páginasTema EBD 16-02Marcio FerreiraAinda não há avaliações
- A Chave Da Magia Negra Traduzido Deep Completo e NumeradoDocumento1.099 páginasA Chave Da Magia Negra Traduzido Deep Completo e NumeradoUbirajara Esmeraldo Ramos71% (7)
- Arquetipos e ProsperidadeDocumento11 páginasArquetipos e ProsperidadeLucineide Silva100% (1)
- Marx e Satã PDFDocumento132 páginasMarx e Satã PDFRoberval AraujoAinda não há avaliações
- Estudo 6 - Do Egocentrismo para o OutrocentrismoDocumento2 páginasEstudo 6 - Do Egocentrismo para o OutrocentrismoValter Matheus Carvalho SilvaAinda não há avaliações
- Paulo Neto Jesus Está VoltandoDocumento1 páginaPaulo Neto Jesus Está VoltandoLícia CalineAinda não há avaliações
- Cantos para 01 de Fevereiro: Melodia: Cheia de Graça 92º Encontro SalmodiaDocumento3 páginasCantos para 01 de Fevereiro: Melodia: Cheia de Graça 92º Encontro SalmodiaAaaAinda não há avaliações
- Memorial Do Convento - ResumosDocumento12 páginasMemorial Do Convento - Resumossonia silvaAinda não há avaliações
- Cópia de Mateus 17Documento5 páginasCópia de Mateus 17Denis DennisAinda não há avaliações
- DP Thau I1Documento6 páginasDP Thau I1Vitória SanchezAinda não há avaliações
- Evangelismo Por Ellen G. WhiteDocumento559 páginasEvangelismo Por Ellen G. Whitenataliadimov100% (1)
- Prova Vestibular BíblicoDocumento7 páginasProva Vestibular BíblicoThiago EvangelistaAinda não há avaliações
- As Sete Alicerce Da UnidadeDocumento13 páginasAs Sete Alicerce Da UnidadeJackson IsidroAinda não há avaliações
- Interpretacao de Texto o Menino e o Padre 4º Ou 5º Ano Respostas 1Documento2 páginasInterpretacao de Texto o Menino e o Padre 4º Ou 5º Ano Respostas 1ljunior0416Ainda não há avaliações
- Meditacao Nib 10 Julho 2022 Batalhe Suas BatalhasDocumento4 páginasMeditacao Nib 10 Julho 2022 Batalhe Suas BatalhasDavid LyraAinda não há avaliações
- Jugo DesigualDocumento3 páginasJugo DesigualBereniceLenzSartortiSoaresAinda não há avaliações
- Advento e NatalDocumento9 páginasAdvento e NatalLalciene Alves RosaAinda não há avaliações
- Familia Passionista 148Documento28 páginasFamilia Passionista 148SuKika NovaisAinda não há avaliações
- Psicologia Do Evangelho - Adenáuer NovaesDocumento155 páginasPsicologia Do Evangelho - Adenáuer NovaesMaria RenataAinda não há avaliações
- David Oyedepo - Nao Devias Ser EstérilDocumento77 páginasDavid Oyedepo - Nao Devias Ser EstérilWeksileyAinda não há avaliações
- Oh, Quão Lindo Esse Nome ÉDocumento1 páginaOh, Quão Lindo Esse Nome ÉGustavo SampaioAinda não há avaliações
- Cristianismo: Externato São Miguel de RefojosDocumento10 páginasCristianismo: Externato São Miguel de RefojosMiguel Oliveira MagalhãesAinda não há avaliações
- A Teologia Do Sofrimento - Gilberto EstevesDocumento2 páginasA Teologia Do Sofrimento - Gilberto EstevesRone CamposAinda não há avaliações
- Criacao de Filhos William BranhamDocumento34 páginasCriacao de Filhos William BranhamLeonardo MeloAinda não há avaliações