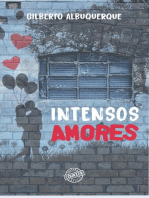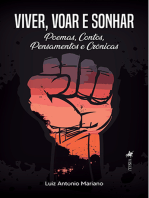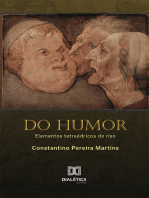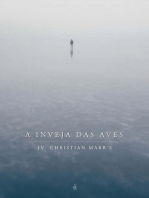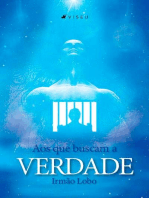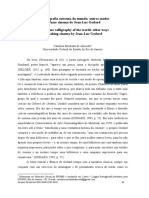Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Domingo - Entre Leandro Muniz e Tarcísio Almeida
Enviado por
LeandroMuniz0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
10 visualizações10 páginasTítulo original
Domingo_entre Leandro Muniz e Tarcísio Almeida
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
10 visualizações10 páginasDomingo - Entre Leandro Muniz e Tarcísio Almeida
Enviado por
LeandroMunizDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 10
DOMINGO
entre Leandro Muniz e Tarcisio Almeida
vênus em leão e amor impróprio
romance is a ticket to paradise and hell
I’ve been there
and I like it
– I knew you were gonna break my heart –
mesmo assim
volto à viagem
(excerto de cinco poemas de amor - Leandro Muniz)
Em Domingo é impossível não pensarmos nas inquietações
suscitadas pela poética do tremor em Édouard Glissant que
nos lembra que “tudo começa sempre com poemas”. Em todos
os povos, o sustento da vitalidade radical se dá primeiro pela
imaginação de uma língua escolhida (e não imposta) e de uma
ação poética (criação) frente ao atavismo que nos marca a ferro.
Sendo este a própria a fidelidade à imutabilidade da poesia e da
língua, base do aniquilamento de uns sobre outros, do passado
sobre o presente e das intensidades que nos abrem para futuros
inesperados. Quando esse poliglotismo vital nos habita, somos
generosamente obrigadas a lidar com o fato de que nossa língua
não é única e que é justamente essa impossibilidade que nos traz
o tônus para lidar com ímpeto atávico de todos dias (e tempos).
Essa língua rebelde e desenfreada da poesia é o que possibilita
o encontro conosco, com nossos antecessores, sucessores e
povos de infinito quântico, dentro do todo-mundo. O pensamento
do tremor em Glissant é ao mesmo tempo a errância e o
inexpressável do mundo onde o pensamento por mundialidade
é o que garante ao vivo uma certa continuidade frente ao
pensamento de sistema e aos sistemas de pensamento. O tremor
é o háptico que nunca se fixa e que se abre para o amanhã
fazendo do todo-o-mundo o objeto mais alto de sua poesia. O
que escorre por essa brecha é uma forma de agir e pensar desde
o mundo inextricável, sem reduzi-lo às nossas próprias pulsões ou
interesses enquanto habitantes de muitos mundos. O inumerável é
exatamente a abundância de mundo diante do uno que concebe
a própria falta de mundo e por isso justifica-se na homogenia
como resultado das relações. O Todo-o-Mundo é um mundo em
que “se entra em zonas de vizinhanças, mais do que se adquirem
caracteres formais” e que por isso sua tradução derivaria sempre
em um ato de criação. Tudo isso se encontra, em forças e em
tremor, tudo está ali e germina nessa imensa anunciação. Em
Domingo, quando nos inclinamos sobre os panos de pintura por
meio da sensação, habitamos uma zona opaca e por isso não
nos perdemos no incomposto regulamentar – desejo de ordem e
mundialização. Pois o opaco é precisamente o que não pode se
encaixar em uma teoria de construção de sentido pré-atribuída.
O opaco é a relação. A poética que insiste em que haja um
“consentimento em não ser um único ser”. Assumimos assim, em
seu nível mais radical, uma forma de dizer sobre os labirintos e
refúgios que nos conduzem à fissura do dique.
TA: Para começarmos gostaria de te propor um breve roteiro
de construção desse novo projeto. Ele recupera diversos
procedimentos que você já vem exercitando na sua prática, mas,
ao mesmo tempo, os aprofunda no sentido de concepção e co-
habitação de um espaço. Como têm se dado essas relações?
LM: Faz tempo que penso no domingo como um dia de
experiências interessantes para o meu trabalho. Para aqueles que
podem descansar, existe um clima de preguiça, muita atividade
doméstica e esse sentimento misto entre o tédio e a ansiedade
de começar a semana de novo. O ciclo dos dias me atrai
profundamente. Entre a organização e a vertigem. Essa exposição
só tem trabalhos novos e muito contextualizados entre si, mas
são operações que já apareceram na minha prática, só que a cada
vez ganham diferentes corpos. Comecei os Varais em 2018. Na
época, eu replicava com pintura as estampas de embalagens de
sacos de pipoca ou de lanches, daí achei que poderia estender
isso para os tecidos. Eles dinamizam o espaço e me interessa
pensar formas de expor. Um varal é essa situação limítrofe entre
o modo de usar o objeto na casa e lidar com/criar uma situação
expositiva ambígua, porque você tem uma frente e um verso,
mas ainda se trata de uma superfície plana, uma lâmina. Também
tinha o Google Imagens, porque ele dava um erro e você primeiro
via um bloco de cor, depois a imagem, então a ideia de fazer só
campos de cor de um dos lados do tecido e do outro as imagens
veio daí. Sou bem organizado no processo de pesquisa e reflexão
sobre quais imagens usar, mas a ação de pintar muda tudo e é
sempre muito subjetivo quando acho que está pronto. Mais do
que criar um estilo, gosto de lidar com essa plasticidade infinita da
tinta. A mínima diluição, o uso de um pincel diferente, raspagens,
coberturas, qualquer decisão muda completamente o conjunto.
Penso cada Varal em relação ao contexto expositivo, tanto em
termos de palheta quanto de imagens e estampas, embora eu
sempre use tricoline com 2 metros de altura - as larguras variam
de acordo com a indústria -, porque é uma escala que gera
associações com o corpo e evoca narrativas. Também sempre
tento pendurar em alturas parecidas, entre 2,20 e 2,40 metros,
no máximo. Nesse caso, eu achei que todas as estampas e cores
deveriam ser diferentes e a montagem um pouco incongruente,
com ângulos que não se encontram, formando um espaço
descontínuo. Acho que pintura tem sempre um dado psíquico,
porque você tem a marca de um corpo e eu quis lidar com essa
dispersão que estou sentindo hoje. Tenho um rigor na construção,
mas o que me atrai é o difuso e não discursivo, embora eu escreva
e fale muito como parte da minha prática, já que atuo como
artista e curador, crítico e, frequentemente, professor. A paleta
dos tecidos foi informada pelo desenho Tapetinho #6. É muito
brasileiro esse objeto, o tapete feito de restos de malha tramadas.
E amo tramas. Visualmente. Filosoficamente. É curioso porque
tudo isso implica tempo. Não acho que eles são representações de
tapetes, mas emulações do modo de fazer: desenho como quem
trama os fios, sobrepondo e unindo as linhas. E qual é o limite
entre essas coisas, na verdade? Perguntas que só se multiplicam
e isso também me interessa: operações sintéticas, mas altamente
polissêmicas. Mais do que falar “sobre” me interessa a sensação
da coisa e como o ritmo, a velocidade, a relação e a intensidade
(que pode ser tênue) são modos de comunicar. Ainda acho que
faço arte por um desejo de criar memória sobre as coisas que
vivo e de como materiais muito triviais condensam experiências
sociais (de classe, raça, gênero), mas, em especial, existenciais.
Marcar presenças e toda a dimensão política disso… E acho tudo
muito ambíguo. Os trabalhos têm dois lados, são imagens e
objetos, seriais e únicos, regulares e irregulares. Fico pensando
nas múltiplas experiências que formam meu corpo que me fazem
pensar e trabalhar assim. Desde morar na Zona Norte, perto do
mato, portanto com uma outra experiência com a cidade de São
Paulo, até as coisas que leio, com quem convivo e de como, no
fundo, estou tentando escapar das sobredeterminações sobre
meu corpo e minha subjetividade. Liberdade é uma experiência
que me move, o que se reflete nas formas instáveis e nas múltiplas
possibilidades que os trabalhos sempre têm, em geral séries, mas
não progressivas e nunca concluídas.
TA: Você parece se colocar diante do cotidiano sem o desejo de
representá-lo. Ou melhor, como se escapando desse desejo fosse
possível abrir espaço para se relacionar com as coisas ao redor
pela sensação provocada por esse encontro. Como dar conta da
presença das coisas pela sensação? Esse modo de relação com o
cotidiano pode ser pensado em aspectos metodológicos?
LM: A presença das coisas. A textura dos dias. Objetos são só
sedimentações de relações e processos, não é? Talvez o cotidiano
me interesse porque ele é inexorável. Para além dos grandes
acontecimentos, tem sempre a comida, os fluxos do corpo, o
pó que se acumula. O cotidiano dentro do espaço doméstico
implica uma quantidade absurda de trabalho e isso tem novas
configurações no nosso momento histórico, neoliberal, permeado
pela internet e por empregos remotos. Estou com 29 anos e moro
sozinho desde os 16, então isso informa meu olhar. O dia-a-dia
tem ‘dores e delícias’, ‘rigores e delírios’, tudo isso me interessa.
Fazer escolhas, aceitar perder e não ter medo disso. O cotidiano
também me faz pensar na morte. Mas não me interesso pelo
‘encantamento do mundo’, nem pelo sentimento de ‘serendipity’,
que é essa espécie de surpresa em meio a regularidade da vida,
muito menos por ‘revelações e epifanias’. Mas a vibração das
coisas me interessa. Acho que a vida é muito curta, talvez por
isso não me interessa a representação, que além de uma estrutura
política limitada, sempre implica uma ausência do objeto. Acho
que opero por analogias, emulações, paralaxes… A coisa é a
coisa, mas também é outras coisas. E como a gente vê as coisas?
Quase como esse paradoxo de como você ouve a voz na sua
cabeça e como os outros ouvem você. Há um desencontro, mas a
gente tenta. Contato, comunicação. Nesse sentido, me interesso
muito pelo toque. O cinza na tinta é diferente do cinza no tecido,
embora tenham o mesmo pigmento. Cor me ajuda a pensar
porque é um fenômeno completamente relacional, material,
instável, contingente. O cotidiano também passa por aí: é uma
experiência muito estética. Que condensa sua vivência de classe,
gênero, raça, seu estado psíquico. E tudo isso se informa e se
transforma mutuamente.
TA: Em nosso diálogo nós sempre mantemos uma certa atenção
aos relativismos apaziguantes das ideias bem como a uma lógica
binária de construção do pensamento. Sabendo que essa atenção
está em nosso horizonte, como podemos pensar as espessuras
políticas e estéticas de uma perspectiva da experiência artística
guiada pela sensação? Como a figuração absoluta nos modos de
conceber e receber as práticas de arte nos distanciam de uma
demora com as experiências do mundo e da possibilidade de
vivenciar a diferença sem separação?
LM: Acho que se não idealizamos nem romantizamos a sensação,
o primeiro ponto é que fugimos do binarismo ocidental ‘mente x
corpo’ e todas as consequências trágicas disso na vida, como a
divisão de gênero e raça ou a separação entre “teoria e prática”.
Se fugimos dessa dicotomia, podemos entender que a forma
como sentimos é resultado de uma série de interações sociais e
se reflete nas coisas que pensamos e como vivemos. E vice-versa.
Sabendo disso, como me mover ativamente nessa dinâmica?
Diferença sem separação, porque o mundo é um fluxo. Tudo isso
traz de novo a questão do tempo. A suspensão temporal me
interessa. O vento e a luz nos tecidos, uma parede desenhada
inteira com um pincel fino. Não porque a dilatação temporal seja
uma salvação, é mais uma questão de saúde mesmo. De entender
e respeitar os ritmos do corpo e do que faz o coração bater de
verdade. Nós lidamos com muitas contingências estando no Brasil
em 2022 e trabalhando com arte. Mas há esses momentos que
fazem valer a pena, reverberar e abrir espaços de indeterminação
nos quais a gente possa sentir outras coisas e deixar que isso
nos informe, nos leve a entender outros sentidos, a construir
conhecimento de outros modos, abrir espaço entre as vértebras e
oxigenar as ideias.
TA: Como o rigor e o delírio aparecem na exposição Domingo?
LM: Além da instalação com os varais que dá nome à mostra e do
desenho-pintura Tapetinho #6, também tem a Camiseta rosa da
série Cascas. Feita de vários pedacinhos de papel colados, ela é
apresentada em um cabide e tem uma pintura com um grid preto.
Diretamente na parede, também tem um desenho de um grid.
Esse tem uma medida de 15 x 15 cm, remetendo a azulejos, mas
me interessa, antes de tudo, a ideia de um mapeamento daquele
espaço, que fica meio vazio, meio coberto por um padrão. Grids
supostamente dizem respeito ao rigor. E no meu trabalho eles
são todos tortos ou maleáveis. Delírio, desejo. Talvez também
seja essa minha tentativa de fuga da dicotomia. Pesquiso cor
porque amo cor. Pesquiso questões raciais na arte porque vivo
isso e fico pensando em como manter minha liberdade em meio
a um mundo esquadrinhado. Escrevo sobre arte porque faço
arte. Mas essa associação rigor e delírio, rigor e desejo pode ser
explosiva, porque é necessariamente multivocal e ambígua. Não
por enfatizar uma dicotomia entre os termos, mas porque eles
se tornam indissociáveis. Me interessa pensar criticamente que é
uma exposição realizada em um lugar chamado Casa de Cultura
do Parque, com uma arquitetura modernista. Ao mesmo tempo,
fico curioso com os processos de identificação e contato que isso
pode produzir. E embora as operações sejam todas altamente
descritíveis e cheias de assuntos e conceitos que poderiam ser
analisados em sua espessura histórica, me interessa o silêncio
dessas imagens e poder compartilhar o fato de que o mundo me
gera dúvidas com momentos dispersos, indiretos e oblíquos de
compreensão. Mas, talvez essa mistura de rigor e delírio esteja
na base de como vivo os dias e talvez eu faça arte, seja em qual
atuação for, por um desejo de tornar isso público.
TA: Zofir Brasil, um dos artistas centrais em minha pesquisa e que
é também responsável por ritualizar parte dos nossos encontros,
trabalhou até o seu falecimento em 1991 “prolongando a vida
das coisas” desejando desobedecer o tempo dado à matéria e
à materialidade da cultura. Ele lidava com objetos a partir de
deslocamentos ou mesmo como insumos. Esse prolongamento
aparece também com diferentes estratégias nos suportes do Bill
Traylor, Noah Purifoy, Cicero Alves dos Santos e tantos outros
nomes que temos trocado nesses últimos anos. Como você tem
elaborado essa questão dentro da sua prática?
LM: No outro dia, em uma conversa com a Cinthia Marcelle, ela
me falou que “quem apropria é branco”. Lembro também de um
comentário seu sobre o Marepe, de que o uso dos objetos na
prática dele não se tratava exatamente de “apropriação”. Fico
feliz em você trazer esses nomes. Poderíamos fazer uma lista
imensa de corpos que nos habitam e vozes que nos falam. And
ghosts are always travelling. Na arte também me interessa essa
possibilidade, virtual que seja, de conversar com os mortos e
tenho pensado em ‘correspondência como método’ como uma
forma de definir meu modo de operar nas minhas diferentes
atuações. Acho que nossa experiência no mundo em que vivemos
é o material do nosso trabalho, então a comida que como, as
pessoas que amo, as roupas que uso ou a tinta que compro têm
que ser pensados em suas interações, afinal, os materiais (físicos,
culturais ou psíquicos) não somem, apenas deslocam-se e tudo
isso informa nossa imaginação enquanto trabalhadores da cultura.
Mas, em termos de processo, para mim há um momento em que
olho para as coisas e vejo associações com outras coisas, daí
nascem os trabalhos. Em geral é quando algo trivial se conecta
com a história, o íntimo com o público, ou o micro com o macro,
o que acho que é uma das grandes potências da nossa prática:
condensar essas conexões levando a pensar em outros sentidos.
TA: Em algum dos nossos horizontes o que estamos perseguindo
é a possibilidade de “errar e tentar” evitando a condenação dos
discursos a priori dados às nossas formas de vida. Sabemos
também que toda prática carrega um conjunto de discursos sejam
eles sociais, históricos, materiais… Como defender uma prática
“não discursiva” em relação a esses textos de antemão?
LM: Sinto que na arte contemporânea temos essa necessidade
hiper discursiva, que se reflete mesmo nas formas de circulação
das obras, sempre atravessadas por statements. Eu escrevo
sobre arte e sou o maior defensor de interpretações rigorosas
sobre os trabalhos e acho que há uma série de complexidades
novas no nosso contexto, desde a globalização, até a internet
e um modo de circulação muito controlado por interesses
privados e financeirizados. O não discursivo também diz coisas.
Mas talvez coisas não programadas, não determinadas, que
não sabemos de antemão e que talvez só vamos entender a
posteriori. Nós dois fazemos análise e uma das primeiras coisas
que aprendemos nesse processo é que há uma grande parte de
nós que simplesmente não conhecemos. E aí a grande questão:
para além das imagens que supostamente representam minha
experiência no mundo - o que se agrava no caso de grupos
historicamente oprimidos -, minha sensibilidade, como bicha,
preto, trabalhador da cultura, dono de casa, etc etc etc, não atina
com os discursos prontos sobre quem eu sou. Como elaborar
isso e criar algum lugar comum para podermos conversar? Só
vamos saber se continuarmos tentando. Talvez por isso eu não
consigo me fixar em uma única linguagem ou mesmo prática.
Ultimamente tenho escrito poesia. Amo música. Sou um grande
interessado pela linguagem, por isso arte. Mas os meus momentos
favoritos nesse universo são quando a própria linguagem mostra
seus limites, ainda que tente comunicar coisas. Se pensarmos nas
relações entre as imagens nos tecidos, por exemplo, ao mesmo
tempo que evocam narrativas, discursos, são completamente
não narrativas, arbitrárias, então existe uma tensão. Eu sempre
pensei que mais do que criar um estilo, me interessava produzir
um conjunto diverso de trabalhos (pinturas, objetos, textos, etc) e
da relação entre eles, talvez surgir algum sentido. E, do conjunto
de pequenas narrativas, apontar para o silêncio subjacente a
elas. Te contei que, no outro dia, estava lavando louça e ouvindo
uma palestra do Fred Moten quando ele disse “Music is my
mother language”. Talvez se conecte com o que você pergunta.
Mas há uma questão prática de viabilização de projetos, textos,
exposições etc. Embora o sistema da arte movimente muito
dinheiro, não raro os artistas são onerados. Então além da
possibilidade de compartilhar o não discursivo de uma pintura de
florzinhas ou de uma camiseta pendurada, também me interessa
esse espaço na minha vida diária, para não sucumbir a uma vida
profissional de puras demandas e talvez tentar manter a arte
como um lugar de singularidade e exceção.
TA: Talvez o que esse debate, que extrapola os limites da
estética, nos diga, é sobre a urgência de imaginação de outros
parâmetros de análise e relação com o próprio objeto/ação
estética. Poderíamos pensar numa ética da sensação como uma
ferramenta possível? Como algo que rompe com a dimensão do
“hiper visível” para fazer irradiar uma outra possibilidade?
LM: A primeira imagem que me ocorreu foi a dos micélios dos
fungos. Para que o cogumelo brote, há uma rede imensa de
filamentos sob a terra, fazendo o trabalho de transporte de
nutrientes e de comunicação entre as partes. Também tenho
pensado muito nos polvos, porque me sinto um pouco assim. A
ideia mais óbvia é de lidar com vários braços no mundo, mas há
outras camadas. Polvos se camuflam em forma, cor e movimento,
emulando outros animais, pedras ou algas. Cada tentáculo pode
agir autonomamente, então o corpo não é definido por um eixo
centralizado orientado pela visão frontal. Eles podem ter veneno,
podem mover-se rápida ou lentamente e há um caso curioso de
polvos que saem de uma poça d’água, andam sobre a areia, para
chegar em outra em busca de alimento. Também poderíamos
pensar no trabalho das formigas e suas arquiteturas subterrâneas
sempre mais fortes do que a parte que vemos na superfície.
Sentir de outros modos implica pensar de outros modos. Sem
dúvida a hiper visibilidade tem consequências trágicas na vida:
ansiedade nas redes sociais, instrumentalização das relações, fear
of missing out e a crença de que as imagens e os discursos valem
por seu valor de face. Tudo isso oblitera o trabalho silencioso
e invisível que estrutura os dias. Tenho me interessado pelo
exercício da presença, que é uma expressão que ganhei de uma
amiga e me marcou profundamente. Isso implica que estar aqui
é escolher perder todo o resto e entender que há sempre algo
que não capturo, que há sempre algo inconcluso e oculto, mas,
especialmente, que as coisas têm outros lados.
Você também pode gostar
- Domingo Individual de Leandro Muniz CompressedDocumento30 páginasDomingo Individual de Leandro Muniz CompressedLeandro Muniz de SousaAinda não há avaliações
- Aprender o amor: Sobre um afeto que se aprende a viverNo EverandAprender o amor: Sobre um afeto que se aprende a viverNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Esse nosso jeito bélico de viver: Reflexões sobre nossa linguagem e formas de comunicação afetivaNo EverandEsse nosso jeito bélico de viver: Reflexões sobre nossa linguagem e formas de comunicação afetivaAinda não há avaliações
- Como se encontrar na escrita: O caminho para despertar a escrita afetuosa em vocêNo EverandComo se encontrar na escrita: O caminho para despertar a escrita afetuosa em vocêNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- A poesia e os lugares de resistência na contemporaneidade: presença no espaço urbanoNo EverandA poesia e os lugares de resistência na contemporaneidade: presença no espaço urbanoAinda não há avaliações
- Dinamica Do SilencioDocumento39 páginasDinamica Do SilencioNatália RezendeAinda não há avaliações
- A inadequação do espelho: a imagem dos excessos 2020 antítese 2021No EverandA inadequação do espelho: a imagem dos excessos 2020 antítese 2021Ainda não há avaliações
- Coisas invisíveis que moram na minha cabeça: Exercícios criativos para se olhar de novoNo EverandCoisas invisíveis que moram na minha cabeça: Exercícios criativos para se olhar de novoAinda não há avaliações
- Macabéa, Pobre Macabéa: Desamparo e Feminilidade no Romance ClaricianoNo EverandMacabéa, Pobre Macabéa: Desamparo e Feminilidade no Romance ClaricianoAinda não há avaliações
- Cuidados paliativos oncológicos: Uma cartografia sobre o tempo de/em finitudeNo EverandCuidados paliativos oncológicos: Uma cartografia sobre o tempo de/em finitudeAinda não há avaliações
- Do Humor: elementos tetraédricos do risoNo EverandDo Humor: elementos tetraédricos do risoAinda não há avaliações
- Grotowski e a estrutura-espontaneidade do ator-criador: Encontros e travessiasNo EverandGrotowski e a estrutura-espontaneidade do ator-criador: Encontros e travessiasAinda não há avaliações
- Texto Diálogo-Desenho Tiburi e Chuí (Pag.9 A 20)Documento11 páginasTexto Diálogo-Desenho Tiburi e Chuí (Pag.9 A 20)Fábio CarvalhoAinda não há avaliações
- A vida num grão de psicoterapia.: Volume I - Dimensão EmocionalNo EverandA vida num grão de psicoterapia.: Volume I - Dimensão EmocionalAinda não há avaliações
- Poesia Com Elos - 1 EdiçãoDocumento23 páginasPoesia Com Elos - 1 EdiçãolucassantosbrAinda não há avaliações
- LLANSOL, Maria Gabriela - A Literatura-Muitas VozesDocumento4 páginasLLANSOL, Maria Gabriela - A Literatura-Muitas Vozeslivros do desassossegoAinda não há avaliações
- Sergio Fingermann - Uma AprendizagemDocumento9 páginasSergio Fingermann - Uma AprendizagemAnna AbdalaAinda não há avaliações
- Corações Que Sentem Demais Transbordam Fácil - Nicole IvyDocumento48 páginasCorações Que Sentem Demais Transbordam Fácil - Nicole IvyMarcela SantosAinda não há avaliações
- Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul Instituto de Artes Departamento de Artes VisuaisDocumento28 páginasUniversidade Federal Do Rio Grande Do Sul Instituto de Artes Departamento de Artes VisuaisyyykauanAinda não há avaliações
- PDF 20231129 221155 0000Documento9 páginasPDF 20231129 221155 0000miguellsbxAinda não há avaliações
- Barba - Carta Ao Ator DDocumento4 páginasBarba - Carta Ao Ator DhectoraoAinda não há avaliações
- Sala de Vídeo: Aline MottaDocumento1 páginaSala de Vídeo: Aline MottaLeandroMunizAinda não há avaliações
- Portfolio Val Trab PDFDocumento22 páginasPortfolio Val Trab PDFLeandroMunizAinda não há avaliações
- Leandro Muniz - Textos SelecionadosDocumento52 páginasLeandro Muniz - Textos SelecionadosLeandroMunizAinda não há avaliações
- Leandro Muniz - Museu ImaginárioDocumento46 páginasLeandro Muniz - Museu ImaginárioLeandroMunizAinda não há avaliações
- 158811-Texto Do Artigo-366584-1-10-20190831 PDFDocumento12 páginas158811-Texto Do Artigo-366584-1-10-20190831 PDFGabriel siracusaAinda não há avaliações
- Tropical Extravaganza - Paola and Paulina PDFDocumento2 páginasTropical Extravaganza - Paola and Paulina PDFLeandroMunizAinda não há avaliações
- All The Lovers PDFDocumento1 páginaAll The Lovers PDFLeandroMunizAinda não há avaliações
- O Processo de Formação Como Obra PDFDocumento4 páginasO Processo de Formação Como Obra PDFLeandroMunizAinda não há avaliações
- Night and Day, de Ilê Sartuzi PDFDocumento2 páginasNight and Day, de Ilê Sartuzi PDFLeandroMunizAinda não há avaliações
- Clichês de Uma Identidade Latino AmericanaDocumento8 páginasClichês de Uma Identidade Latino AmericanaLeandroMunizAinda não há avaliações
- Uma Noite Sem Lua, de Castiel Vitorino PDFDocumento3 páginasUma Noite Sem Lua, de Castiel Vitorino PDFLeandroMunizAinda não há avaliações
- Um Estranho No Vilarejo - James BaldwinDocumento24 páginasUm Estranho No Vilarejo - James BaldwinLeandroMuniz100% (1)
- Folder Exposição Paola e PaulinaDocumento2 páginasFolder Exposição Paola e PaulinaLeandroMunizAinda não há avaliações
- Paola e Paulina - Leandro MunizDocumento1 páginaPaola e Paulina - Leandro MunizLeandroMunizAinda não há avaliações
- D I S F A R C e - Leandro MunizDocumento1 páginaD I S F A R C e - Leandro MunizLeandroMunizAinda não há avaliações
- Entrevista Com Lais Myrrha PDFDocumento18 páginasEntrevista Com Lais Myrrha PDFLeandroMunizAinda não há avaliações
- "Desenho Como Uma Criança de 5 Anos": Traços e Traumas Na Formação de Educadoras de Infância/professoras Do Primeiro Ciclo, Ana Sousa, 2018Documento14 páginas"Desenho Como Uma Criança de 5 Anos": Traços e Traumas Na Formação de Educadoras de Infância/professoras Do Primeiro Ciclo, Ana Sousa, 2018Ana de SousaAinda não há avaliações
- Cultura em Ms Numero04 2011Documento84 páginasCultura em Ms Numero04 2011Pilar ZBAinda não há avaliações
- S Furegatti - Passagens Da Arte Brasileira para o Espaço ExtramurosDocumento14 páginasS Furegatti - Passagens Da Arte Brasileira para o Espaço ExtramurosVachevertAinda não há avaliações
- Dicionário Técnico Histórico de Pintura - Francisco Assis RodriguesDocumento396 páginasDicionário Técnico Histórico de Pintura - Francisco Assis RodriguesПутина Распутина100% (2)
- Coleção Os Pensadores - Platão PDFDocumento446 páginasColeção Os Pensadores - Platão PDFRaphael RosaAinda não há avaliações
- Imagem, Mídias e Telecolonialidade: Rumo A Uma Crítica Decolonial Dos Estudos VisuaisDocumento16 páginasImagem, Mídias e Telecolonialidade: Rumo A Uma Crítica Decolonial Dos Estudos VisuaisOswaldo Freitez100% (1)
- A Dualidade Do SerDocumento11 páginasA Dualidade Do SernellycoelhoAinda não há avaliações
- Ciclo 3 - Atividade Do Portifólio em Política Da EducaçãoDocumento19 páginasCiclo 3 - Atividade Do Portifólio em Política Da EducaçãoLeonardo Souza Dos SantosAinda não há avaliações
- Dodf 025 05-02-2018 IntegraDocumento52 páginasDodf 025 05-02-2018 IntegraJuliana TelesAinda não há avaliações
- Curriculo - P Leosmar Indic - Profa Ms Daniele Munhoz GarciaDocumento6 páginasCurriculo - P Leosmar Indic - Profa Ms Daniele Munhoz GarciaDaniele Garcia MigrassomAinda não há avaliações
- Centro Interpretativo Das Águas FriasDocumento22 páginasCentro Interpretativo Das Águas FriasConceição RoqueAinda não há avaliações
- Raquel Scotti Hirson - Corpoetizar Reflexoes Sobre Mimese Poetica Da PalavraDocumento5 páginasRaquel Scotti Hirson - Corpoetizar Reflexoes Sobre Mimese Poetica Da PalavraLis MachadoAinda não há avaliações
- Ilide - Info Simulado Enem 3a Serie PRDocumento36 páginasIlide - Info Simulado Enem 3a Serie PRAna BeatrizAinda não há avaliações
- Questões para ProvasDocumento6 páginasQuestões para ProvasLyndaCristhianFerreira100% (1)
- Van GoghDocumento17 páginasVan GoghIsabelle CantoAinda não há avaliações
- Resenha Do O Corpo Parceiro e o CorpoDocumento11 páginasResenha Do O Corpo Parceiro e o CorpoGustavo Faccion100% (1)
- História Da Dança PDFDocumento142 páginasHistória Da Dança PDFjumaflorAinda não há avaliações
- Robert Morris em Estado de DançaDocumento197 páginasRobert Morris em Estado de Dançamarilia.sem5438Ainda não há avaliações
- Musashi RedaçãoDocumento1 páginaMusashi RedaçãoDjeimisom ÁvilaAinda não há avaliações
- SOARES, Thiago - Ninguém É Perfeito e A Vida É AssimDocumento193 páginasSOARES, Thiago - Ninguém É Perfeito e A Vida É AssimLuciana PaivaAinda não há avaliações
- Lais 1ºDocumento2 páginasLais 1ºLais CristinaAinda não há avaliações
- 143776-Texto Do Artigo-284765-2-10-20180419Documento17 páginas143776-Texto Do Artigo-284765-2-10-20180419moema cruzAinda não há avaliações
- PIZARRO, Ana. O Voo Do TukuiDocumento254 páginasPIZARRO, Ana. O Voo Do Tukuihenrique100% (1)
- Projeto Arte Por Toda Parte - Resgatando TalentosDocumento2 páginasProjeto Arte Por Toda Parte - Resgatando TalentosWagner Faquineti100% (2)
- SOCIOLOGIAORGDocumento5 páginasSOCIOLOGIAORGalejandraAinda não há avaliações
- Turismo e Etc. 23Documento4 páginasTurismo e Etc. 23luizfranciscoAinda não há avaliações
- TCC - A Importancia Do Ensino de Arte Na Educação InfantilDocumento16 páginasTCC - A Importancia Do Ensino de Arte Na Educação InfantilAline GonçalvesAinda não há avaliações
- Arte Egípcia e Arte GregaDocumento2 páginasArte Egípcia e Arte GregaGessica Braga AlmeidaAinda não há avaliações
- Uma Caligrafia Extrema Do Mundo Outros Modos de Fazer Cinema de Jean-Luc Godard (Artigo) Autor Carolina Machado de AlmeidaDocumento15 páginasUma Caligrafia Extrema Do Mundo Outros Modos de Fazer Cinema de Jean-Luc Godard (Artigo) Autor Carolina Machado de AlmeidaManuel ChavesAinda não há avaliações
- Capítulo 2.3: Mocidade EspíritaDocumento59 páginasCapítulo 2.3: Mocidade EspíritaElder JunqueiraAinda não há avaliações