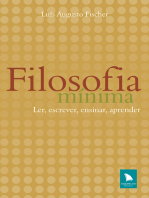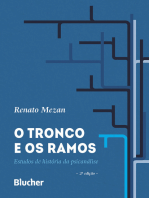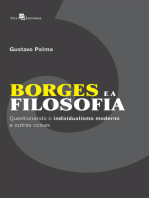Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
"Verdade Ou Método" Uma Reflexão em Defesa Da Hermenêutica - Ipseidade Pura PDF
Enviado por
Walmagson Rodrigues0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
12 visualizações1 páginaTítulo original
“Verdade ou método” uma reflexão em defesa da hermenêutica – Ipseidade pura.pdf
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
12 visualizações1 página"Verdade Ou Método" Uma Reflexão em Defesa Da Hermenêutica - Ipseidade Pura PDF
Enviado por
Walmagson RodriguesDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 1
Crie seu site com o WordPress.
com Comece ag
Ipseidade pura
existencialismo, narrativismo e nostalgia
metafísica
“Verdade ou método?”:
uma reflexão em defesa
da hermenêutica
! O narrativista ! Sem categoria
! 31 de março de 2022 !32 minutos
O presente texto é um esboço de uma fala a ser
realizada neste sábado, 2 de abril, para os amigos
e amigas do grupo de estudo e pesquisa em
hermenêutica de Paul Ricoeur, do PPG-Fil da
UFPI. O intento do texto é, portanto, preservar
em forma escrita o que será dito de forma oral.
Convidado a oferecer uma reflexão sobre método,
decidi falar simultaneamente de método de
reflexão filosófica e método de pesquisa acadêmica.
Espero, ao final, mostrar como esses dois
métodos 1) são coisas diferentes; 2) não são
igualmente encorajadas em diferentes ambientes
porque 3) são valorizados de forma muito distinta
no horizonte da profissionalização em filosofia.
Para dar testemunho da confiança na filosofia de
Paul Ricoeur, opto por desdobrar essa dupla
reflexão por meio do recurso à narração. Opto
por essa via porque entendo que minha
compreensão do que seja método está
borromeanamente amarrada em minhas
compreensões de mim mesmo e da história da
filosofia – ou, em termos ricoeurianos, minha
compreensão do “método hermenêutico” se dá
trançada com certas aplicações desse método
nos âmbitos que Ricoeur chama de hermenêutica
do si e da consciência histórica.
•••
Penso que essa história deve ter como um de
seus começos o segundo semestre do ano de
2003. Era meu último ano de ensino médio
quando, cansado de minhas perguntas sobre
Beckett, Artaud ou Brecht, meu professor de
teatro me perguntou se eu não considerava fazer
a faculdade de filosofia. Até então pensando em
tentar o curso de psicologia (para o qual minha
nota no vestibular seriado teria sido
insuficiente), disse que jamais tinha considerado
essa hipótese. Por uma razão talvez muito
simples: eu jamais tivera aulas de filosofia no
ensino médio. O professor, então, me emprestou
O mundo de Sofia. Não consegui parar de ler e em
dois ou três dias, estava decidido: faria faculdade
de filosofia.
(Evidentemente, o “ponto de corte” bem mais
baixo também foi um fator decisivo…)
Quem leu o livro de Jostein Gaarder sabe que ele
é uma espécie de história romanceada da
filosofia, em tom infanto-juvenil, cuja dobradiça
central é o capítulo sobre a obra do empirista
inglês George Berkeley. Provavelmente O mundo
de Sofia é uma das maiores homenagens já
prestadas a esse empirista inglês sempre
ofuscado por John Locke e David Hume. Sem
querer dar spoiler de um livro publicado há mais
de trinta anos, é o idealismo radical do
empirismo de Berkeley que faz com que ele seja
importante na economia do enredo do livro. É
por meio de Berkeley que Gaarder oferece a
explicação para a mistura de sonho e fantasia
que ocupa a primeira metade do livro. Essa
mistura de sonho e fantasia garantiu a
continuidade do meu interesse pela filosofia do
bispo durante todo o primeiro ano de faculdade.
Além de Berkeley, que era então uma leitura
paralela aos textos das disciplinas, registro
também o lugar especial do Protréptico de
Aristóteles nessa época. Por meio daquele texto,
aquele primeiranista intensificou uma
consciência que um Pierre Bourdieu – conforme
aprendi por meio das falas e aulas da minha
companheira e que tenho, há anos, assistido de
camarote – chamaria de ilusão escolástica. A ideia
de que o pensamento filosófico era não só um
bem em si como também, em certo sentido, a
própria vocação mais intimamente humana foi,
naquele 2004, uma das primeiras experiências do
sagrado de um rapazinho muito pouco
espiritualizado. Aristóteles pavimentou o
contexto de justificação de uma descoberta, feita em
contexto de puro acaso (Berkeley via Gaarder via
professor de teatro), do idealismo berkeleyano e
o envolvimento com um saber com aura de
sacralidade foi a forma da minha relação com a
filosofia naqueles primeiros dias. No final
daquele ano, o acaso proporcionou para aquele
rapazinho o encontro com um outro texto, ainda
mais decisivo: a Metafísica do amor, de Arthur
Schopenhauer.
Quem entrou na faculdade de filosofia há quase
20 anos pode ter vivido uma relação de amor
com as publicações da Martin Claret, cujas
traduções eram em geral assinadas por um
sujeito chamado Pietro Nassetti, que parecia
capaz de traduzir qualquer coisa de qualquer
idioma mas que, na verdade, como foi descoberto
depois, nunca traduziu coisa alguma para a
editora. Foi numa dessas edições de dez pila que li
e reli o texto por meio do qual o tal
Schopenhauer (que não aparecia em O mundo de
Sofia, se bem me lembro) explicava o amor.
Explicação um tanto tenebrosa, é verdade: o
amor era qualquer coisa como o verniz, a
maquiagem, o jogo de luzes , miragens e
ilusionismo que incidia sobre a consciência para
que a vontade se perpetuasse por meio da
reprodução humana. Schopenhauer fazia o
jovem de 18 anos se sentir o joguete de uma
espécie de força cósmica onipotente e cega. Mas,
conforme descobri depois que dizia Nietzsche, há
– ou havia, no século XIX – no jovem um pendor
para grandes explicações metafísicas. Foi assim
que retirei em uma biblioteca O mundo como
vontade e representação, do mesmo Schopenhauer.
2005 foi um ano passado inteiramente na
companhia desse alemão rabugento que eu lia
quando devia estar lendo Santo Agostinho na
disciplina de filosofia medieval com aquele que
seria meu orientador de doutorado. Que o livro
começasse com a frase “o mundo é minha
representação”, de inspiração kantiana, permitiu
um enxerto naquele pendor ao idealismo obtido
pelas leituras sobre Berkeley. Que essa ideia
fosse sustentada não só por meio do recurso ao
filósofo de Königsberg mas também com
Shakespeare e Calderón de la Barca era
especialmente importante, na medida que
indicava certa comunidade de natureza entre as
intuições de filósofos e artistas.
Falar de O mundo… faz com que eu lembre do que
Ricoeur fala do tempo propriamente humano. O
livro foi publicado por Schopenhauer há quase
exatos 200 anos. Ou seja, Schopenhauer, na
Alemanha do XIX, está cronologicamente muito
mais perto de nós do que de Platão. Entretanto,
em certo sentido, O mundo… está muito mais
perto do Timeu do que de Tempo e narrativa.
Explico-me: O mundo… é um livro em 4 partes:
uma epistemologia, uma metafísica, uma estética
e uma ética. O mundo… é um sistema filosófico
com pretensões de explicação totalizante. Um
livro sobre tudo, conforme o script da tradição
metafísica. Seu diferencial era substituir as
nobres e excelsas instâncias do Espírito
hegeliano ou da Ideia platônica por uma Vontade
irracional. No contexto de uma chave de leitura
heideggeriana da história da metafísica como
história de sua própria consumação (de sua
própria autodestruição, como dirá Gerd
Bornheim), Schopenhauer é o começo de um fim. É
um lugar de observação de alguns, para usar
uma expressão de Milan Kundera, paradoxos
terminais da história da metafísica. Depois de
Schopenhauer, não restaria mais o que demolir
das grandes categorias da tradição metafísica
inaugurada por Platão. Não é por acaso, nesse
sentido, que Nietzsche tenha despertado para a
filosofia por meio da leitura de Schopenhauer e
depois avançado na direção dessa consumação
autodestrutiva, construindo uma obra que seria
o gran finale da tradição metafísica.
Menciono o caráter essencialmente metafísico da
obra de Schopenhauer porque, vista das alturas
que a distância cronológica eventualmente
permite, há qualquer coisa de interessante no
encontro entre um jovem egresso do ensino
público e sem qualquer contato com a filosofia e
um sistema metafísico escrito por um jovem
alemão (Schopenhauer tinha 30 anos quando
publicou O mundo…) quase 200 anos antes. O que
chamei de ilusão escolástica é o fato de, naqueles
anos, eu não ter desenvolvido a sensibilidade para
a distância e a diferença entre o que era a filosofia
daquele alemão do XIX e a filosofia que eu
aprendia na faculdade. É verdade que eu tive
boas aulas com estimados professores que
falavam de Peter Strawson, Gilbert Ryle, Thomas
Nagel, Roderick Chisolm, Derek Parfit. E que
minha pequena grande alma mater fora visitada
por Ernst Tugendhat uma ou duas vezes. Mas,
reitero, a aula de sacralidade dos textos de
metafísica dos grandes filósofos da tradição
drenava toda minha atenção e não me
encorajavam a olhar com boa vontade para a
filosofia contemporânea profissional, tão
anglophonic minded e tão obcecada com questões
que, diante da Metafísica da Vontade, pareciam
tão insignificantes.
Depois de Schopenhauer, naturalmente, veio
Nietzsche. O caso editorial das obras de
Nietzsche era ainda pior e muitos de seus livros
estavam disponíveis por cinco pila, na banca de
revistas do calçadão da cidade, em edições da
Editora Escala. Ou seja: era possível comprar um
ou outro livrinho de Nietzsche sem abdicar de
muitas cervejas no fim de semana (a boate dos
estudantes, na época, cobrava algo como “três
garrafas por dez pila”). Quando um ou outro
colega, imbuído da empáfia que eventualmente
acomete o sujeito de tão prestigiada condição de
graduando em uma licenciatura de filosofia,
reclamava das traduções da Escala eu,
serenamente, dizia qualquer coisa como “não
sabiam que eram ruins, não sei falar alemão”. É claro
que deviam ser horríveis aquelas traduções. De
qualquer modo, quase vinte anos se passaram e
eu ainda não sei falar alemão.
Os Nietzsche da editora escala me
proporcionaram a descoberta de um desses
conceitões que, uma vez instalados, começam a
drenar para suas cercanias uma enorme
variedade de explicações de fenômenos
humanos, a saber, o conceito de ressentimento.
Naqueles dias eu descobri a onipresença do
ressentimento e comecei, na magnânima altura
dos meus vinte anos, minha própria cruzada
pessoal contra essa constelação afetiva
horrorosa. A expressão “constelação afetiva”,
aliás, é de Maria Rita Kehl que, bem mais perto
de nós que Nietzsche, publicou um livro
chamado Ressentimento no ano em que entrei na
faculdade. O livro é qualquer coisa como um
verbete de uma coleção com ares de enciclopédia
de psicanálise. Lá, a psicanalista falava de
Nietzsche e de Freud, de literatura e de política
brasileiras. Embora depois eu descobrisse que
era um clichê, não escapei dele: do
Schopenhauer se vai para Nietzsche, de
Nietzsche se vai para Freud e enquanto os
colegas começam a pesquisar com bolsas de
iniciação científica você ganha 90 reais por doze
horas de trabalho no laboratório de informática
da faculdade e se equipa para sua cruzada
pessoal contra o ressentimento lendo metafísica,
psicanálise e narrativas de ficção (em especial, os
livros “quase filosóficos” do já mencionado
Milan Kundera).
Diz-se que o tempo cura tudo. Também se diz
que ele destrói tudo. No meu caso, a passagem do
tempo fez diminuir um pouco a ilusão escolástica
as custas de um ganho de autoconsciência
profissional. No quarto ano (minha trajetória
pela graduação durou cinco anos na medida em
que atrasei em um a conclusão do curso ao
reprovar por ausências na filosofia medieval
lecionada por meu futuro orientador de
doutorado) comecei a trabalhar em um cursinho
pré-vestibular popular. No quinto, fiz meu
estágio. No terceiro, depois do rápido e explosivo
flerte com Nietzsche, paralelamente, comecei a
ler também os textos de Jean-Paul Sartre. O
existencialismo entrou no turbilhão de leituras
não só por seu apelo retórico, dramático e – na
falta de uma palavra melhor – existencial.
Diferentemente do que se passava com
Nietzsche, Schopenhauer ou psicanálise, a pós-
graduação do departamento de filosofia tinha (e
ainda tem) uma linha de fenomenologia e
hermenêutica. Em outras palavras, parecia – e
depois descobri que era – possível fazer mestrado
sobre Sartre. Metade da minha graduação,
portanto, foi ocupada com a leitura,
independente e meio selvagem, dos livros de e
sobre Sartre. Chamo especial atenção para o
Sartre, metafísica e existencialismo de Gerd
Bornheim, emprestado por um amigo,
fotocopiado e carregado por mim até hoje.
Tenho algumas gerações de anotações nas
bordas das páginas desse xerox que carrego até
hoje. As mais recentes são desse ano.
O Sartre… de Bornheim é especial não só em
razão de sua primeira parte, na qual o autor
explica de maneira brilhante e até hoje sem par
em língua portuguesa o existencialismo de
Sartre, tomando por fio condutor a reconstrução
dos temas de O ser e o nada. Talvez o que seja
mais interessante no livro, para mim, é sua
segunda parte, intitulada A destruição da
metafísica. Em nove capítulos, Bornheim sustenta
a tese – na época, para mim, muito
surpreendente – de que O ser e o nada é uma
radicalização do platonismo. Por meio de
detalhadas comparações de Sartre com Hegel e
depois com Platão, Bornheim mostra como o
ensaio de ontologia fenomenológica, de 1943, é todo
e inteiramente perpassado por temas e aporias
que remontam aos tempos do começo da
metafísica, da “entificação do ser”. Portanto, em
um sentido muito especial a suma existencialista,
como O mundo… de Schopenhauer, está mais
perto de Platão do que de nós. Mas Bornheim
termina o livro, originalmente publicado em
1971, dizendo que “em certo sentido, somos
todos sartreanos”. Isto é: somos todos o sujeito
angustiado da teodiceia sem Deus que Sartre
desenvolve por meio do aparentemente já tão
pós-metafísico método fenomenológico.
Se não experimentamos a angústia em tempo
integral, todavia, é porque disfarçamos nossa
responsabilidade radical na Weltanschauung da
má-fé, isto é, na visão de mundo na qual vigoram
e imperam estratégias de evasão da
responsabilidade. Pretextos, desculpas,
determinismos e toda sorte de esquemas de
esquiva da responsabilidade angustiante
constituem a atmosfera na qual, na maior parte
do tempo, nos movemos. Naqueles dias descobri,
com Maria Rita Kehl, que o ressentido não pode
admitir que seus valores florescem em um solo de
rancor. O ressentido dissimula de si mesmo a
responsabilidade pelos próprios fracassos e
conclui que seu sofrimento exige um culpado. Sua
integridade narcísica se constitui pela
manutenção de uma imagem de pureza, de
vítima injustiçada, em um cenário no qual seus
malogros e derrotas implicam na existência de
vilões malvados como os das histórias infantis.
Em suma, descobri que o ressentido vive na má-
fé e pude manter viva a força explicativa da
categoria nietzscheana de ressentimento no
interior da fenomenologia do autoengano. Essa
ideia virou um projeto de mestrado que por sua
vez virou um mestrado que resultou numa
dissertação, alguns artigos e um título que, há
dez anos atrás, me habilitou para disputar e
obter um cargo em uma faculdade católica na
qual, por cinco anos, eu lecionaria para
seminaristas.
Os sete anos entre o começo do mestrado e o fim
do período na faculdade católica foram,
certamente, alguns dos mais interessantes do
meu percurso intelectual – e existencial – na
filosofia. O contraste entre a formação
profissionalizante da federal e a formação
humanística na católica realçaram para mim os
contornos das possibilidades curriculares e,
digamos assim, atmosféricas das faculdades de
filosofia. A expectativa da comunidade de
seminaristas era de uma formação muito mais
clássica do que aquela oferecida na federal. Dá
pra dizer que David Chalmers, Daniel Dennett,
Peter Singer, Philipa Foot, Donald Davidson e
mesmo Hans Reichenbach, Karl Popper ou
Gottlob Frege não eram nomes muito
conhecidos. Talvez um dos nomes da filosofia
contemporânea que mais tenha sido escutado
por aquela gurizada tenha sido justamente o de
Paul Ricoeur. E, claro por minha culpa.
Esse período de docência na faculdade católica
(que, no final, coincidiu com um período de dois
anos como substituto na federal) foi também o
período em que comecei a ler Ricoeur de modo
mais sério, chegando a orientar uma monografia
sobre identidade narrativa. Tudo isso era feito
tendo em vista um doutorado que eu perseguia
sem muita pressa, já que esperava ter uma ideia,
isto é, uma tese, uma hipótese, alguma coisa para
dizer. Acho que foi nessa época em que eu
comparava ideias de Sartre e Ricoeur sobre
identidade pessoal que tive alguns insights
importantes sobre a filosofia e sobre o modo
profissional de realizar pesquisa em filosofia.
Embora o próprio Ricoeur tenha escrito diversos
textos sobre o assunto, foi nos artigos e livros de
Ernildo Stein que, em paralelo com o de
Bornheim, compreendi melhor a crise da
metafísica e o lugar da hermenêutica (da
hermenêutica filosófica e da filosofia hermenêutica,
que não são a mesma coisa) nessa crise. Uma
pequena passagem desse autor pode ajudar a
ilustrar o que quero dizer:
“A ontologia é a concepção de uma determinada
realidade que se apresenta como definitiva. Ontologia
é uma teoria do ser e portanto uma teoria que
estabelece como o mundo é. No universo das teorias
hermenêuticas e no universo das teorias do sentido,
nós não trabalhamos com realidades ontológicas. Pela
primeira vez, de maneira clara, eliminam-se os
mundos paralelos da filosofia. Sempre se dizia que a
filosofia trabalhava com o supra-sensível, com o
mundo divino, com o mundo ideal, etc. A introdução
das metáforas, a introdução do universo do sentido e a
introdução da história conceitual, da pesquisa da
história conceitual, era uma maneira de libertar o
universo humano do determinismo de qualquer tipo
que se infiltrava através das concepções ontológicas
do mundo – concepção que sempre tinha um caráter
ideológico porque as ontologias comandavam a
realidade. (…) No momento em que nos libertamos das
ontologias, com o nascimento da tradição
hermenêutica, começamos a perceber que os diversos
campos da filosofia, que antes eram determinados a
partir do mundo natural, poderiam ser multiplicados
ao infinito através da inventividade humana.”
Nos libertamos das ontologias, dizia Stein. Nos
libertamos das ontologias, eu lia enquanto ainda
vivia na órbita do pensamento de Sartre, uma
ontologia fenomenológica. Ao lado dos livros de
Sartre, nas minhas prateleiras, já estavam os de
Ricoeur, contudo. Diferentemente de Sartre,
Ricoeur é praticante de uma hermenêutica que,
segundo o próprio autor, frequentemente
merece “ser chamada de filosofia prática e ser
aceita como ‘filosofia segunda'”, conforme
declara no prefácio de O si-mesmo como outro,
texto que se encerra com uma questão: rumo a
qual ontologia? Ricoeur encerra o livro dizendo
que a ontologia que esboça é fiel à sugestão feita
no prefácio, a saber a de “que continue sendo
possível uma ontologia nos dias de hoje, na
medida em que as filosofias do passado
continuam abertas a reinterpretações e
reapropriações”, graças ao “potencial de sentido
que ficou sem emprego ou mesmo reprimido
pelo próprio processo de sistematização e
escolarização” ao qual “devemos os grandes
corpos doutrinários que costumávamos
identificar por seus expoentes: Platão,
Aristóteles, Descartes, Espinosa, Leibniz etc”.
Imbuído de inspiração hermenêutica, o aceno
ontológico de Ricoeur é pleno de consciência
histórica acerca da própria posição na história
da filosofia. Diferentemente de um Sartre,
Ricoeur jamais dirá coisas como as que Sartre diz
no final de O ser e o nada, como por exemplo que
Platão poderia ter percebido que o Outro do ser
deve ser “consciência”. Não: Platão não poderia
dizer o que só pode ser dito ao final de uma
longa história que exigiu Descartes, Kant, Fichte,
Schopenhauer, Nietzsche, Husserl, Freud.
Ricoeur sabe disso enquanto Sartre precisa fazer
parecer, em O ser e o nada, que as estruturas
ontológicas tem qualquer coisa de trans-
históricas, trans-temporais, de eternas e de
disponíveis para quaisquer mentes bem
orientadas, como se as situações históricas e os
contextos interpretativos não tivessem estratos
sociais, culturais, simbólicos de todo o tipo e sem
os quais o pensamento não tem lastro para chegar
a certos lugares.
A passagem de Stein deixa bem claro: depois da
consumação da metafísica, a filosofia é aberta,
não se fecha sobre si mesma em sistema e deve
permanecer atenta e sensível para seus próprios
entornos concretos. Ricoeur também o sabia e,
em 1985, propõe que se deve renunciar à Hegel.
São Koselleck, (historiador conceitual – pelo
qual, por acaso, também fiquei obcecado desde
que me foi apresentado não só pelo texto de
Ricoeur mas também por minha companheira),
Gadamer (hermeneuta) e Nietzsche (pós-
metafísico) que guiarão seu pensamento aberto.
“Ontologia”, portanto, tem em Ricoeur um
sentido muito especial se o compararmos com
clássicos como Platão, Aristóteles, Spinoza ou
Hegel. Mesmo Sartre, nessa perspectiva,
parecerá mais próximo de Platão do que de
Ricoeur e de nós.
Privacidade e cookies: Esse site utiliza cookies. Ao continuar a usar
este site, você concorda com seu uso.
Para saber mais, inclusive sobre como controlar os cookies, consulte
aqui: Política de cookies
Fechar e aceitar
Você também pode gostar
- A eternidade na obra de Jorge Luis BorgesNo EverandA eternidade na obra de Jorge Luis BorgesAinda não há avaliações
- Cinema e FilosofiaDocumento9 páginasCinema e FilosofiaWanderAinda não há avaliações
- Filosofia mínima: Ler, escrever, ensinar, aprenderNo EverandFilosofia mínima: Ler, escrever, ensinar, aprenderAinda não há avaliações
- Padre Maurílio Teixeira-Leite Penido: filósofo e teólogo brasileiroDocumento26 páginasPadre Maurílio Teixeira-Leite Penido: filósofo e teólogo brasileiroGustavo S. C. MerisioAinda não há avaliações
- A estrutura argumentativa de uma tese de doutorado segundo Ernil do SteinDocumento12 páginasA estrutura argumentativa de uma tese de doutorado segundo Ernil do SteinFrancisco WiederwildAinda não há avaliações
- O Tronco e os Ramos: Estudos de história da psicanáliseNo EverandO Tronco e os Ramos: Estudos de história da psicanáliseNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Schopenhauer, Filosofo Do Absurdo PDFDocumento34 páginasSchopenhauer, Filosofo Do Absurdo PDFKLAKKENTAinda não há avaliações
- Borges e a Filosofia: Questionando o Individualismo Moderno e Outras CoisasNo EverandBorges e a Filosofia: Questionando o Individualismo Moderno e Outras CoisasNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Seve - 1969 1979 - MRX Teo Prs - V 1Documento235 páginasSeve - 1969 1979 - MRX Teo Prs - V 1Janaina Damasco Umbelino100% (1)
- A Psicanalise e Seu DuploDocumento5 páginasA Psicanalise e Seu DuploTarcísio GuedesAinda não há avaliações
- Jacques Rancière e a revolução silenciosa da literaturaNo EverandJacques Rancière e a revolução silenciosa da literaturaAinda não há avaliações
- A função da literatura na fundação da psicanálise segundo FreudDocumento20 páginasA função da literatura na fundação da psicanálise segundo FreudCristian Alexander PereverzieffAinda não há avaliações
- Comentários Sobre A Literatura em Perigo TodorovDocumento17 páginasComentários Sobre A Literatura em Perigo TodorovThiago FelícioAinda não há avaliações
- A Superioridade da Forma Musical diante da Poesia em SchopenhauerNo EverandA Superioridade da Forma Musical diante da Poesia em SchopenhauerAinda não há avaliações
- A Viagem de SophiaDocumento126 páginasA Viagem de SophiaVictor BorgesAinda não há avaliações
- Fora de Contexto - StrathernDocumento33 páginasFora de Contexto - StrathernAmanda Serafim100% (1)
- Kósmos Noetós. Metafísica de PeirceDocumento17 páginasKósmos Noetós. Metafísica de Peircegmjr760% (1)
- Psicanalise e Seu DuploDocumento5 páginasPsicanalise e Seu DuploGladson Fabiano de AndradeAinda não há avaliações
- ETNOFILOSOFIA: O CONCEITO E SUA CRÍTICADocumento12 páginasETNOFILOSOFIA: O CONCEITO E SUA CRÍTICADeyvid Galindo SantosAinda não há avaliações
- O Elogiável Risco de Escrever Sem Ter FimDocumento7 páginasO Elogiável Risco de Escrever Sem Ter FimTúlio CostaAinda não há avaliações
- A Transfiguracao Do Lugar-ComumDocumento305 páginasA Transfiguracao Do Lugar-Comumnegomano100% (8)
- Introdução À Tragédia de Sófocles - Friedrich NietzscheDocumento47 páginasIntrodução À Tragédia de Sófocles - Friedrich NietzscheLucas Fei100% (1)
- Filosofia e o presenteDocumento11 páginasFilosofia e o presenteMarlon GrandoAinda não há avaliações
- Νεκρομαντεῖον- Homenagem ao filósofo Sérgio L. de C. FernandesDocumento6 páginasΝεκρομαντεῖον- Homenagem ao filósofo Sérgio L. de C. Fernandesoscar.fraihsAinda não há avaliações
- Erro, Ilusão e LoucuraDocumento274 páginasErro, Ilusão e LoucuraLetricia VentinAinda não há avaliações
- JESÚS G Maestro EntrevistaDocumento14 páginasJESÚS G Maestro EntrevistaMatheus LellisAinda não há avaliações
- Filosofia Da Tradução - Tradução de Filosofia - o Princípio Da IntraduzibilidadeDocumento37 páginasFilosofia Da Tradução - Tradução de Filosofia - o Princípio Da IntraduzibilidadeJuliana CecciAinda não há avaliações
- Nenhuma Paixão Desperdiçada - Leitor IncomumDocumento14 páginasNenhuma Paixão Desperdiçada - Leitor IncomumClara BomfimAinda não há avaliações
- Bourdieu Passeron NotasDocumento7 páginasBourdieu Passeron NotasLuiz Felipe CandidoAinda não há avaliações
- A Poesia Na Filosofia Heideggeriana - Uma Breve Investigação Rumo À Crítica PDFDocumento15 páginasA Poesia Na Filosofia Heideggeriana - Uma Breve Investigação Rumo À Crítica PDFGabriela FehrAinda não há avaliações
- 1 PBDocumento24 páginas1 PBGabriel CrespoAinda não há avaliações
- Nietzsche, A Lição de Schopenhauer e o Eterno Retorno - Carlos Alberto SobrinhoDocumento14 páginasNietzsche, A Lição de Schopenhauer e o Eterno Retorno - Carlos Alberto SobrinhoEdemilde Helena SapiaAinda não há avaliações
- Panorama de la filosofía francesa contemporáneaDocumento9 páginasPanorama de la filosofía francesa contemporáneawcharryAinda não há avaliações
- A noção de obstáculo epistemológico em BachelardDocumento21 páginasA noção de obstáculo epistemológico em BachelardMatheus MottaAinda não há avaliações
- Literatura e FilosofiaDocumento39 páginasLiteratura e FilosofiaMharkos CaetannoAinda não há avaliações
- Emmanuel Lévinas - Ética e InfinitoDocumento57 páginasEmmanuel Lévinas - Ética e Infinitodaaamn_67% (6)
- A Poesia Amorosa Do Egito AntigoDocumento32 páginasA Poesia Amorosa Do Egito AntigoCamila MagalhãesAinda não há avaliações
- (Resenha) Platão e As Temporalidades: A Questão MetodológicaDocumento7 páginas(Resenha) Platão e As Temporalidades: A Questão MetodológicaFlavio TorresAinda não há avaliações
- Confissões de um cético francófiloDocumento21 páginasConfissões de um cético francófiloAline MarquesAinda não há avaliações
- Resumo o Demônio Da Teoria CampagnonDocumento8 páginasResumo o Demônio Da Teoria CampagnonRibeiro Letra Bastarda100% (5)
- A Crítica de Benjamin à Teoria do ConhecimentoDocumento10 páginasA Crítica de Benjamin à Teoria do ConhecimentoWellington Bomfim LagoAinda não há avaliações
- Ecce+homo+a+autobiografia+como+genero+filosofico Katia+muricy Zazie+edicoes+2017Documento42 páginasEcce+homo+a+autobiografia+como+genero+filosofico Katia+muricy Zazie+edicoes+2017Bruno Lorenzatto100% (1)
- Frye Northrop Anatomia Da CriticaDocumento182 páginasFrye Northrop Anatomia Da CriticaKeila AraújoAinda não há avaliações
- Ficção Brasileira... Tania PelegriniDocumento11 páginasFicção Brasileira... Tania PelegriniJuliana Prestes OliveiraAinda não há avaliações
- O estilo aforístico de NietzscheDocumento6 páginasO estilo aforístico de NietzscheAlexander MoraisAinda não há avaliações
- Resumo do livro Literatura para QuêDocumento5 páginasResumo do livro Literatura para QuêdayaneAinda não há avaliações
- Goethe e Nietzsche: intertextualidade entre literatura e filosofiaDocumento32 páginasGoethe e Nietzsche: intertextualidade entre literatura e filosofiaLeonel AntunesAinda não há avaliações
- A Paixão Segundo GH e o Leitor ImplícitoDocumento124 páginasA Paixão Segundo GH e o Leitor ImplícitoFranciele LibardiAinda não há avaliações
- Literatura Portuguesa Clássica - Maria BuescoDocumento248 páginasLiteratura Portuguesa Clássica - Maria BuescoInes MarquesAinda não há avaliações
- O sublime terrível de Edmund BurkeDocumento34 páginasO sublime terrível de Edmund BurkeFRANCESCO ROBUSTELLIAinda não há avaliações
- História e Psicanálise Entre Ciência e FicçãoDocumento5 páginasHistória e Psicanálise Entre Ciência e FicçãoAntonio SilvaAinda não há avaliações
- Teologia e messianismo no pensamento de BenjaminDocumento18 páginasTeologia e messianismo no pensamento de Benjaminnatalia rodriguesAinda não há avaliações
- O Nome Da Rosa - Análise Dos Embates FilosóficosDocumento17 páginasO Nome Da Rosa - Análise Dos Embates FilosóficospapadefiscalAinda não há avaliações
- Entre A Prosa e A Poesia - Bakhtin e o Formalismo Russo (Cristovão Tezza)Documento1.306 páginasEntre A Prosa e A Poesia - Bakhtin e o Formalismo Russo (Cristovão Tezza)Natalia Matos100% (5)
- Teoria e Crítica Literária 3 - Aula 1Documento3 páginasTeoria e Crítica Literária 3 - Aula 1Helber TavaresAinda não há avaliações
- A Literatura Fantastica Caminhos TeoricosDocumento217 páginasA Literatura Fantastica Caminhos Teoricosalkevi100% (1)
- Enem Idade Contemporanea - TBDODocumento9 páginasEnem Idade Contemporanea - TBDOEMEF Getúlio VargasAinda não há avaliações
- Prova Geral PDFDocumento1 páginaProva Geral PDFWalmagson RodriguesAinda não há avaliações
- Caderno de InglêsDocumento39 páginasCaderno de Inglêsmdutra_2Ainda não há avaliações
- A Leitura Na Sala de Aula PDFDocumento107 páginasA Leitura Na Sala de Aula PDFWalmagson Rodrigues100% (1)
- Caderno de InglêsDocumento39 páginasCaderno de Inglêsmdutra_2Ainda não há avaliações
- Captura de Tela 2022-08-19 À(s) 14.27.17Documento36 páginasCaptura de Tela 2022-08-19 À(s) 14.27.17Walmagson RodriguesAinda não há avaliações
- Ibutumy 2Documento1 páginaIbutumy 2Walmagson RodriguesAinda não há avaliações