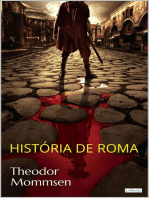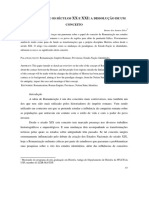Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Jean Michel Carrié Tradução Introduction Por Bustamante
Enviado por
semiramiscorsiTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Jean Michel Carrié Tradução Introduction Por Bustamante
Enviado por
semiramiscorsiDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Texto traduzido por Regina Bustamante
Disponível em : https://www.academia.edu/4776552/CARRIE_Jean-
Michel._Introduction_Bas_Empire_ou_Antiquite_Tardive._trad._de_Regina_Busta
mante
Acesso em : 22/02/2016
CARRIÉ, J.-M. “Introduction ‘Bas Empire’ ou ‘Antiquité Tardive’? In: CARRIÉ, J.-M.,
ROUSSELLE, A. L’Empire Romain en mutation; des Sévères à Constatin 192-337.
Paris: Éditions du Seuil, 1999. p. 9-25. (Coll. Points H 221: Nouvelle Histoire de
l’Antiquité 10)
Introdução “Baixo Império” ou “Antigüidade Tardia”?
Ao final de seu recente pequeno livro , Averil Cameron coloca a seguinte
1
questão: “Um Gibbon moderno não escreveria mais uma obra intitulada ‘Declínio e
Queda do Império Romano’ . Mas que outro título poderia escolher?”
2
Por que – comecemos por isso – este título não seria mais possível nos nossos dias? As
razões são múltiplas. Inicialmente, porque não se admite mais que este tipo de curva, quase
biológica, permita descrever a evolução das sociedades humanas, especialmente no caso do
mundo antigo. A idéia de “crise” do Império Romano é admitida apenas para certos períodos
(séculos III, V e VII), em alternância com as “restaurações”, os “redirecionamentos”, os
“renascimentos”: nos séculos IV e VI, essencialmente. No plural, a palavra “crise” perde sua
dramaticidade, não ressoa mais como a ruptura de uma civilização. Depois, porque a queda do
Império Romano não pode mais constituir o termo cronológico da Antigüidade, caso se
considere o prolongamento desta em Bizâncio e sua influência nos reinos bárbaros que, no
Ocidente, acamparam sobre estas ruínas.
Do “Baixo Império” à “Antigüidade Tardia” (p. 10-11)
A perspectiva “romana” – Roma como cabeça da Igreja “católica” – manteve durante
muito tempo uma visão de Império Romano centrado no Ocidente. Quando definiam o
período, os historiadores atuais tendiam a fazer passar para o segundo plano a referência
romana para aqui reintroduzir o conceito maior de “mundo antigo”, de Antigüidade. Apesar
disto, como nós o veremos, desde o século III, Roma não está mais em Roma, e a queda desta
em 476 tende atualmente a ser considerada como um não-acontecimento. As conseqüências
deste deslocamento são extremamente importantes, a Antigüidade Tardia cessando então de
constituir a fase descendente de um período histórico para ascender ela própria a uma posição
de período histórico original: ela cessa de ser a fase de transição que se via ordinariamente
nela para constituir uma nova experiência do mundo antigo. Logo, sua delimitação
cronológica exige uma redefinição.
O problema dos limites a demarcar para a Antigüidade Tardia se coloca menos no
montante do que no aval. A escolha cronológica operada por Rémondon, de Marco Aurélio
(161-180) a Anastácio (491-518), era muito inovadora no seu tempo. O título tinha,
entretanto, o inconveniente de fazer pensar que a “crise do Império Romano” se prolongara
sobre todo este arco de tempo. Um consenso se estabeleceu para limitar a “crise” à segunda
metade do século III e relacionar este período ao Alto Império do qual se constituiria a fase de
incapacidade em se transformar. Dever-se-ia então falar de “crise do Alto Império”, seguida,
como o indicava a próprio Rémondon, de um restabelecimento do Império, ou melhor, da
substituição por um “Império Novo” – a fórmula, mais recente, de Timothy Barnes –, a
Antigüidade Tardia propriamente dita. O título do Colóquio de 1981 organizado e publicado
por Edmond Frézouls, Crise e redirecionamento nas províncias européias do Império
(metade do século III – metade do século IV) , assumiu esta periodização, plenamente
3
confirmada depois por diversos trabalhos, dentre os quais a tese (inédita) de Michel Christol
sobre o reinado de Galieno. Crise e redirecionamento foram objeto deste primeiro volume.
Quanto à Antigüidade Tardia, a tendência atual é prolongar até a conquista muçulmana no
Oriente e na África do Norte, que fracionou a unidade do mundo mediterrâneo, redobrou os
interesses vitais de Bizâncio sobre o Oriente e o obrigou a rever sua organização
distanciando-se do passado romano. Este corte permitiu melhor delimitar as continuidades e
as rupturas entre a Antigüidade e a Alta Idade Média no Ocidente, a Alta Época Bizantina no
Oriente. Não se pode, entretanto, simplesmente inverter o título de Gibbon falando de
“renascimento e sobrevivência do Império Romano”.
A terminologia do grande historiador inglês era ela própria anterior àquela que foi
adotada na França para designar o período: “Baixo Império”, expressão lançada em 1759 por
Lebeau e que conheceu o sucesso que se sabe. Na França, somente há 25 anos foi que Marrou
defendeu a adoção em francês da expressão “Antigüidade Tardia”. Não era uma simples
querela de palavras: devia liberar o período de suas conotações pejorativas que perpetuavam o
descrédito que pesava sobre ele. Marrou defendia que o uso francês se modelou sobre o
conceito de Spätantike adiantado desde 1901 pelo arqueólogo vienense Alois Riegl na sua
Spätrömische Kunstidustrie. Por sua vez, os ingleses falavam desde muito tempo de Later
Roman Empire. Atualmente, pode-se dizer que Antigüidade Tardia adquiriu definitivamente o
direito de cidadania: não somente a expressão, mas também o corte cronológico que designa e
que ajuda a reabilitar. Não que esta reabilitação passasse sem restrição: certamente que ela
não atingiu o grande público.
A Historiografia da “Queda” (p. 11-14)
A temática do “declínio e queda” tem raízes antigas e poderosas. Montesquieu, que
fazia começar o “gótico” no século III, não colocava no último século da República o final da
“grandeza” e o início da “decadência”? Marrou lembra a célebre frase conclusiva de Gibbon:
“Assim, nós assistimos o triunfo da religião e da barbárie.” Michel Baridon, na sua
apresentação da edição “Bouquins”, indica a que ponto Gibbon sofreu influência de Voltaire
na sua visão da “queda de Roma”, Voltaire que escreveu no Ensaio sobre os costumes: “O
cristianismo abria o céu, mas perdia o Império”. Os embates religiosos dos homens da
Antigüidade Tardia, exacerbados pela cristianização do Império, produziram testemunhos
deformados pelas paixões partidárias. Posteriormente, vieram a se sobrepor conflitos
ideológicos da historiografia moderna. Trazer para este período um olhar objetivo e
desapaixonado era então um empreendimento impossível. No caso de Gibbon, notar-se-á que
sua visão da queda de Roma, fortemente influenciada pelo anglicanismo, extrai também
poesia das ruínas, tão característico do pré-romantismo europeu. Um passeio através dos
vestígios da Roma Antiga, colocada numa perspectiva melancólica (e, entretanto, sábia),
lembra as origens de seu projeto de historiador, que se fundamenta na sua personalidade e na
sua biografia. Um elemento visual, mediatizado pela cultura de uma época, obtém neste
homem tranqüilo o lugar que ocuparão no século seguinte as dúvidas e angústias que
conduzirão a redramatizar o tema da “queda”. Por outro lado, se a história interior de Bizâncio
desde Justiniano à tomada pelos turcos ocupa somente um capítulo (o 48°) dos 71 que
compõem o Declínio e Queda, isto basta para reinserir o final da Antigüidade num contínuo
histórico e despertar além-Mancha um interesse pelo Oriente Médio (vide o Extremo Oriente)
na sua relação com o mundo romano que continua a estimular a pesquisa britânica atual.
“Lembra-te que és mortal.” Era o costume, no banquete romano, de fazer circular, sob
uma forma ou outra (sobre a baixela da mesa, por exemplo), a evocação da morte no mais
forte dos regozijos terrestres. Tal era também a função durante muito tempo assinalada para a
queda de Roma, na reflexão sobre o destino das civilizações humanas. Além dos obstáculos
criados pelas enormes dificuldades de interpretação histórica do período e o reino de
preconceitos classicistas, o tema do “fim do Império Romano” sofreu até data bem recente da
incapacidade em se destacar do tema obsedante da civilização ameaçada pela barbárie
(empenhada nas rivalidades nacionais e lutas sociais do século XIX), que exprimia em
realidade a própria inquietude das nações ou de classes dominantes pouco seguras delas
próprias.
Este movimento foi acentuado pelo pessimismo consecutivo à 1a. Guerra Mundial. Era
o momento quando as idéias de Oswald Spengler (O Declínio do Ocidente, 1918-1922)
dominavam a cena historiográfica – e naturalmente a “queda de Roma” forneceu ao filósofo
um material de análise. O tema da decadência, alimentado por uma leitura em alto grau de
testemunhos antigos e embates dos conflitos ideológicos modernos, fez do “Baixo Império” o
arquétipo de todo o “fim de um mundo”. Um belo exemplo da projeção de uma atualidade
incandescente sobre a análise da queda de Roma foi fornecido por Rostovtseff. Pode-se ler na
sua História Econômica e Social do Império Romano: “A revolução social do século III, que
destruiu os fundamentos da vida econômica, social e intelectual do mundo antigo, não podia
engendrar nenhuma realização positiva. Sobre as ruínas de um Estado próspero e bem
organizado, que tinha por bases a civilização clássica secular e a autonomia política das
cidades, ela edificou um Estado fundamentado na ignorância geral, no constrangimento e na
violência, na escravidão e na servidão, na corrupção e na desonestidade.” Nesta ciência
4
ventríloqua, excessivamente evidente, o pensamento de Rostovtseff não se separa um instante
da Revolução Bolchevique que o insufla, para aplicar a Roma o tema da eliminação das elites
por um movimento revolucionário de massas, ou ainda o da instauração de uma sociedade de
escravos. Ora, se a tese é arriscada, ela não procede, entretanto, somente dos fantasmas de seu
autor, mas se apoia sobre análises e teorias muito correntes na sua época, algumas
remontando a Eduard Meyer e a Max Weber. Ela foi transmitida com sucesso à geração
seguinte – através de historiadores como Oertel ou Paul Petit – e a visão que propõe do
mundo romano tardio, a despeito de tudo o que logicamente os opõe, se lê freqüentemente em
última instância no texto de Finley. Grandes narrações de história globalizante e redução ao
tipo-ideal acabaram por apresentar o Império Tardio com uma imagem artificialmente
unificada, lançando um ponto contínuo por cima das diversidades regionais e as oscilações
cronológicas, logo, reduzindo o período a um modelo esquemático mais fechado ainda como
não o fizera os termos de declínio, de decadência e de queda.
Todas as condições então se reuniram para que a Antigüidade Tardia suscitasse, mais
do que nenhuma época da História Antiga, um vasto canteiro de estudos historiográficos no
sentido francês do termo: a história da produção histórica e das maneiras próprias de escrever
a História. Esta pesquisa foi magistralmente levada, entre outros, por Santo Mazzarino no Fim
do Mundo Antigo (1959) , ou ainda por Luciano Canfora, Ideologia do Classicismo (1980) ,
5 6
especialmente nas páginas que consagra a Spengler. Concomitantemente, as condições atuais
permitem uma abordagem menos emotiva do período. Arnaldo Momigliano, constatando ao
final dos anos 1970 uma diminuição do interesse pelo problema das causas da queda de
Roma, atribuía isto à “impressão – largamente compartilhada – que nossos problemas são
qualitativa e quantitativamente incomensuráveis em relação aos de Roma durante seu
declínio.” O “Baixo Império” cessaria de oferecer espelho às psicoses do século?
7
Sobre as Causas da “Queda”, o Estorvo da Escolha (p. 14-17)
As falsas pistas e os motivos de atolamento certamente não faltam. Durante
muito tempo, o período foi abordado sob o único ângulo da história dos imperadores
e da Igreja, cujo grande precursor foi Le Nain de Tillemont, modelo de erudição e de
espírito crítico inigualável seguido por seus êmulos. No século XIX, cada nação veio
procurar nos últimos séculos antigos a história de suas origens, sob a pressão das
rivalidades européias do momento. O nacionalismo germânico reabilitou os
“bárbaros” contra o jurisdicismo romano enquanto que Frances Fustel de Coulanges
se dedicava a limitar o peso dos germanos no curso dos acontecimentos. Mas, desde
1544, Jean Magnus, bispo de Upsala, na sua História dos Godos e dos Suevos,
apresentava os germanos como libertadores de um Ocidente submetido aos
déspotas romanos. Trinta anos mais tarde, François Hotman retomava o mesmo
arrazoado, em proveito desta vez dos francos livres e dos gauleses. Acrescentemos
que, em face aos antagonismos das fontes antigas, os modernos, em lugar de
exercerem sobre todas o mesmo espírito crítico, escolheram seu campo: Lactâncio
contra Zósimo, Constantino contra Juliano, ou vice-versa. Assim, em 1576, Johannes
Löwenklau publicou uma Apologia em Defesa de Zósimo, contribuição à questão
constantiniana ousadamente levantada um século antes por Lorenzo Valla num texto
fundador da exegese histórica moderna . 8
Os mais tenazes preconceitos formaram-se no coração das rivalidades
sociopolíticas e internacionais pela apropriação das heranças antigas, logo estudar
história era somente um pretexto para a pesquisa de argumentos de legitimação:
assim a pretendida “doação de Constantino” fundamentava o poder temporal do
papa; a teologia eusebiana do poder constantiniano alimentou a argumentação da
mui católica monarquia francesa (de Clóvis a Luís XIV); os textos relativos ao
colonato foram contraditoriamente invocados para fins de legitimação de direitos
senhoriais ou da prerrogativa real anti-feudal na França do século XVI ao XVIII. A
história com pretensões científicas, que nasceu muito tempo depois, no século XIX,
herdou estas argumentações instrumentais, freqüentemente sem o saber. Um
excesso de inversão de interesses e paixões de natureza religiosa na história do
Império Cristão suscitou historiografias partidárias: católica ultramontanista,
jansenista, protestante de diversos credos, laica ou anti-cristã. Estes debates, que
mergulham suas raízes nos embates ideológicos do próprio período, foram crispados
em torno do conflito Constantino-Juliano que, após ter atravessado os séculos, se
prolonga até nós. A linguagem destas fontes antigas foi tomada ao pé da letra de
uma forma acrítica (aqui inseridos os exageros apocalípticos), ou mal compreendida
– especialmente com um mal entendido sobre a natureza dos “Códigos” que não foi,
atualmente ainda, verdadeiramente dissipado.
Deve-se, entretanto, resumir o que fez principalmente, até uma data muito
recente, a fraqueza dos estudos consagrados ao período, poderia situá-la no hábito
de pesquisar as causas antes mesmo de ter estabelecidos os fatos, tanto que a pista
“declínio e queda” se impunha a todos previamente na menor pesquisa. A “queda do
Império Romano” teve um papel catártico para a consciência moderna nas diversas
épocas de sua história. Chamou sobre ela uma fixação das inquietudes que cada
geração lança sobre os destinos do mundo no qual vive. Tirar lições da queda de
Roma para o tempo presente conduzia inevitavelmente a individualizar a causa
principal do declínio de Roma na obsessão do momento, neste que os modernos
consideravam como o principal perigo pesando sobre sua própria civilização. Assim,
em inúmeros historiadores, esta tendência também reduziu a queda de Roma a um
único tipo de causalidade.
Entre estas interpretações monocausais, indicar-se-ão inicialmente as
explicações de tipo pseudo-biológico colocando em causa a decadência da raça após
os escravos orientais terem contaminados o velho ninho latino-itálico (Tenney Frank,
“Race mixture in the Roman Empire”, artigo aparecido no American Historical Review
de 1916): o “hibridismo” também foi incriminado em 1926 pelo sueco Martin P.
Nilsson em seu Imperial Rome. Transposto para o darwinismo histórico, isto levou à
eliminação dos melhores (Seeck, retomado por Stein) e, num espírito muito próximo,
a barbarização da sociedade (Meyer, depois Rostovtseff), reflexo do espectro das
classes perigosas na ideologia burguesa européia. Uma outra categoria reagrupa as
explicações de tipo “político” e moral, no prolongamento filosófico do século XVIII: a
perda da liberdade (Julius Beloch), levada ao extremo pelo anacronismo com o
emprego que F. W. Walbank fazia do termo fascismo para qualificar a época
constantiniana no seu Decline of the Roman Empire in the West (1948); a revanche
das nacionalidades oprimidas por Roma (Camille Jullian); a difusão do cristianismo
que, combinada às invasões bárbaras em Gibbon, tornam-se causa única do declínio
em Georges Sorel e na ideologia pré-nietzscheniana; a inadequação institucional,
diagnosticada por Ortega y Gasset. Por comparação, as explicações do tipo
socioeconômico apareciam relativamente isoladas: uma delas é mais interessante
num sentido, não que seja menos falsa que as outras, mas porque introduz um
domínio de preocupação mais fecundo e novo: a teoria da difusão, a partir do século
III, de uma “economia natural” consecutiva ao afundamento do sistema monetário
(Max Weber, depois Gunnar Mickwitz). Enfim, mesmo entre os historiadores os mais
“polifônicos”, raros são aqueles que não colocaram, em última análise, uma causa
particular antes de todas as outras: excesso da fiscalidade (Boak, A. H. M. Jones),
despovoamento, assaltos bárbaros, perda da identidade cultural e moral, etc.
Quaisquer que sejam as hipóteses avançadas no decorrer deste grande
debate, podem-se relacioná-las a dois esquemas fundamentais de sentido oposto: a
explicação por causas internas ou por causas externas. Na França, esta oposição se
encarnou nas pessoas de Ferdinand Lot, atribuindo a queda à dissolução interna do
sistema sob o efeito de uma “pré-feudalização” – projeção sobre a Antigüidade
Tardia de uma Idade Média ainda imperfeitamente conhecida –, e de André Piganiol,
professando a tese de assassinato do mundo romano pelos bárbaros, o que é já uma
maneira de reabilitar o “Baixo Império”, sob o risco de exagerar sua superioridade
em termos de civilização.
O Problema das Fontes (p. 17-20)
A imagem catastrófica que se ligou durante tanto tempo ao Império Romano a
partir dos Severos e ainda mais após seu fim em 235 foi diretamente legada aos
modernos pelos historiadores antigos, contemporâneos da “crise” ou um pouco
posteriores. No decorrer da história – nós podemos fazer disto a experiência para
nosso tempo –, a opinião é muito mais impressionante pelo desaparecimento do
passado que receptivo na discreta conscientização da mudança. Por que os romanos
do século III seriam exceções à regra? Os modernos fizeram somente reproduzir
seus silêncios ao mesmo tempo que seus clamores. Qual texto desta época nos fala
dos sucessos comerciais da cerâmica africana acompanhando suas exportações
agrícolas? Inversamente, qual texto pode-se pretender que seja desprovido de visões
partidárias ou de efeitos retóricos? Tomemos o Da morte dos perseguidores de
Lactâncio, que, como indica seu título, interpreta a história da Tetrarquia em termos
de vingança divina contra os imperadores perseguidores da verdadeira fé. Não é de
se espantar que ele inflame seu auditório contra as medidas as mais impopulares dos
tetrarcas, especialmente a reforma fiscal e recenseamento geral que a acompanha.
Pode-se falar ainda de um texto documentário caso se represente a dimensão
simbólica e mesmo escatológica que este recenseamento revelava para Lactâncio
como para o público cristão ao qual se dirigia: todos pensavam num outro
recenseamento histórico, aquele feito pela autoridade romana na Galiléia no
momento do nascimento de Cristo, aquele que tinha causado a viagem de Maria e o
nascimento do Salvador num estábulo, aquele que era associado ao massacre dos
inocentes. Concomitantemente, como para a Historia Augusta, uma vez esclarecidos
os elementos de deformação do texto, este possui um incomparável valor de
informação. Os historiadores seriam bem inspirados de ali ler mais atentamente a
lista de contribuições introduzidas por Diocleciano: as requisições de metais
preciosos exigidas dos contribuintes, que a documentação papirológica acaba de
lançar luz. Se bem que a História Antiga, de uma maneira geral, nos tenha ensinado
a não tomar suas fontes ao pé da letra, poucas épocas nos deixaram textos a este
ponto codificados e mitificadores. Assim, a desconfiança deve se exercer para o
perfeito conhecimento.
É seguramente um setor bem ingrato, árduo, austero da pesquisa em História
Antiga a pesquisa sobre as fontes, a Quellenforschung. Ela conquistou seu título de
nobreza na erudição do século XIX. Mas, se nosso conhecimento destas épocas é
depois consideravelmente expandido e diversificado, graças à contribuição da
epigrafia, da papirologia, da numismática, da arqueologia, que romperam a
dependência exclusiva na qual se encontravam nossos precursores em relação aos
historiadores antigos, eles próprios freqüentemente distantes do período que
relatavam, tem-se a se destacar o enriquecimento que a pesquisa sobre as fontes
conheceu recentemente, ocasionando uma renovada vitalidade e conduzindo a
descobertas ou confirmações de grande importância. Apesar disto, os investimentos
neste tipo de pesquisa não perderam nada de sua importância: permitindo uma
classificação por grau de confiabilidade das fontes, indispensável quando se sabe o
número de versões diferentes que podem existir de um mesmo acontecimento.
Caso se excetue os historiadores antigos originais cujas obras chegaram até
nós (por vezes, de uma maneira muito incompleta), a transmissão dos textos
operada pela Idade Média ocidental e bizantina privilegiou, para o período que nos
interessa, obras de segunda mão ou breviários utilizando estas obras, muito
freqüentemente sem as citar, historiadores contemporâneos dos fatos relatados,
autores de História Universal ou abreviadores (“epitomistas”) já clássicos, alguns
desaparecidos ou mais conhecidos por alguns fragmentos ou alusões. As
semelhanças e diferenças perceptíveis nas obras conservadas – freqüentemente
tardias – permitem remontar suas narrações paralelas a um número limitado de
fontes de informação tão claras que várias “obras fantasmas”, tais como estes
planetas cuja existência pode ser deduzida pela órbita dos astros conhecidos mesmo
quando escapam ainda à observação, foram individualizadas. Uma delas é a “proto-
História Augusta” ou “Enmann Kaisergeschichte” (EKG), do nome de seu “inventor”
em 1883, utilizada por nossa Historia Augusta (que se queria a sua continuação) seja
diretamente, seja através de dois abreviadores intermediários, Aurélio Victor (cujo De
Caesaribus é datado de 360) e Eutrópio (cujo Breviário foi concluído
aproximadamente em 369). Uma outra destas fontes desaparecidas, que foi
largamente extraída de Zósimo (sob Anastácio, no início do século VI) como Eunápio 9
do qual era dependente, seja uma obra latina pagã de concepção tucididiana da
segunda metade do século IV, já colocada em forma, unitária e coerente, pronta a
toda forma de reemprego – empréstimo ou resumo, plágio ou citação. Este rápido
retrato esboça, para um número cada vez maior de especialistas, os Annales de
Nicômaco Flaviano, uma obra da época teodosiana não conservada, mas célebre em
seu tempo e além dele; se pensara inicialmente que cobria somente a Roma
Republicana. Não se duvida mais que nesta fonte tenha também sido extraída tanto
da História Augusta como do Epitome de Caesaribus, de Zósimo e mesmo de Amiano
Marcelino . Seria também o elo faltando entre os historiadores do século III e a
10
fonte principal de Leão o Gramático (século X), identificada pouco depois por Bruno
Bleckmann com Pedro o Patrício (século VI), conhecido por alguns fragmentos, nos
quais reconhece também o “Continuador anônimo de Dion”. Compreender-se-á
assim que a pesquisa sobre as fontes atualmente desaparecidas, longe de ser uma
deformação de erudição masoquista, é importantíssima para o conhecimento
histórico.
Em Direção à Renovação do Interesse, Visão Nova (p. 20-24)
Um panorama das posições sobre esta questão neste final século XX levaria a
três constatações. A primeira é que o interesse pela Antigüidade Tardia, atualmente,
não revela mais um gosto de “decadência”. A segunda é que a Antigüidade Tardia,
enquanto objeto científico, tem um pouco mais de 50 anos . Pode-se dizer que é um
11
setor pioneiro, no qual o conhecimento progrediu e progredirá ainda
consideravelmente. A terceira é que o domínio de pesquisa foi profundamente
reelaborado por trabalhos recentes, em direção à história econômica, social,
antropológica. As problemáticas da “queda do Império Romano” foram reorientadas
para as de transição do mundo antigo aos mundos medievais. Seus objetos históricos
se renovaram, sua importância relativa se viu reclassificando a hierarquia das
prioridades. Os modos de leitura das fontes com forte carga ideológica (Historia
Augusta, hagiografias, etc.) desenvolveram-se; por sua contribuição primordial, as
fontes “frias” – epigrafia, papirologia, numismática, arqueologia – trouxeram o
contrapeso de uma informação neutra, isenta de conteúdos emotivos e de
conotações subjetivas.
Avancemos uma proposição que os epistemólogos poderiam julgar herética:
muita simpatia por um objeto de estudo não pode prejudicar o seu conhecimento.
Precisamente, a simpatia pela Antigüidade Tardia é atualmente compartilhada tanto
por historiadores não cristãos como por historiadores cristãos. Ocupar-se do que foi
durante muito tempo designado como “Baixo Império” não implica mais que se tome
partido por Constantino ou por Juliano. Pode-se mesmo não ter nenhuma opinião a
priori sobre esta questão. O estudo do período invoca legitimamente a única
justificativa da pesquisa histórica que, para Paul Veyne, pode ser considerada: “É
interessante.”
A renovação do interesse pelos últimos séculos da Antigüidade tomou formas
variadas. Dois exemplos. Santo Mazzarino deixou claro, logo de saída, sua recusa em
reduzir a Antigüidade Tardia a um tipo-ideal da decadência dos impérios. Convidando
a considerar o prejuízo das interpretações unilaterais, ele contribuiu ao fazer do
período o laboratório de uma história, em que os fenômenos eram privados de
significação e o estudo os manteria isolados, para uma história global proveniente do
vai-e-vem constante da análise dos fatos econômicos, sociais, institucionais, como da
cultura e das mentalidades: é certamente isto que fez a vitalidade das pesquisas
sobre a Antigüidade Tardia nos últimos quarenta anos. Marrou, por sua vez,
empregou, uma abordagem que indo do exterior para o interior, apresentou nesta
época uma Antigüidade “outra”, diferente, original, capaz de inovar. A este respeito,
ele citava os codex, a invenção do “livro” em sua forma moderna em substituição aos
rolos (volumen), ou ainda o vestuário ajustado e costurado, a túnica com mangas-
tubos ligada por costuras, as roupas de baixo advindas da Ásia Central. Nos dois
casos, a inovação vai além de uma simples invenção técnica: ela determina
mudanças de valor e de hábitos mentais a longo prazo: para o codex, é a passagem
para a leitura silenciosa, que instaura uma nova relação com o texto; para a nova
roupa adaptada à mobilidade corporal, é o abandono da nudez em todas as
atividades humanas de movimento (trabalho, etc.), levando por seu turno a uma
redefinição de pudor e uma nova percepção moral do corpo humano. Naturalmente,
tais invenções estão minimamente relacionadas à “nova religiosidade” que inspira
então tanto os pagãos quanto os cristãos e que constitui para Marrou a originalidade
essencial da Antigüidade Tardia.
Atualmente, este interesse deve muito ao fato de que o período foi durante
muito tempo maltratado. Ele deu ao historiador matéria para vastas revisões e
reconstruções do saber, com a satisfação de ver as coisas moverem-se muito rápido.
Além da renovação das fontes, que estimulou o estudo do mundo antigo em seu
conjunto, e, em particular, favoreceu as épocas tardias, nas quais seu impacto foi
ainda acrescido pelos erros da historiografia passada. Damos alguns exemplos. Do
ponto de vista dos textos, houve, no espaço de alguns anos, um florescimento de
inéditos de Santo Agostinho: 29 cartas de um interesse excepcional para a história
social e jurídica, logo seguidas de novos sermões ; mais modestamente, os
12
Hermeneumata de Sponheim, texto escolar, glossário bilíngüe latim-grego do século
IV servindo para o ensino da retórica , o poema místico anônimo de A Visão de
13
Dorotheos14. Em relação à epigrafia, as grandes inscrições públicas da Ásia Menor
(Aphrodisias e Aezani) melhoraram nosso conhecimento da política monetária da
Tetrarquia, além disso, Aphrodisias enriqueceu o repertório conhecido das
“aclamações públicas”; também as inscrições privadas, como a do soldado Aurélio
Gaio (AE 1981, 777), “resmungão” dos tetrarcas finalmente reformado devido ao seu
cristianismo. Na papirologia, fonte inesgotável de novidades, o dossiê das
distribuições de trigo de Oxyrhynchos (P. Oxy. XL), as requisições de metais
preciosos ou as declarações de preços das corporações; o registro do correio de um
epistratego em Panópolis entre 298 e 300 (P. Beatty Panop.), as contas dos cavalos
de muda do correio imperial no século VI (P. Oxy. LV 4087-4088); os arquivos de
Papnouthis e Dorotheos, (P. Oxy. XLVIII), administradores e agentes de cobrança; o
livro de contas de um grande domínio em Kellis, proveniente do oásis de Dakhleh; os
papiros da Mesopotâmia. O mesmo em relação às novas escavações e prospeções
arqueológicas: no domínio das construções militares, somente no Egito, depois da
escavação de Qasr Qaru/Dionysias nos anos 1950, os últimos dez anos apenas nos
apresentaram pelo menos quatro fortalezas tardias totalmente desconhecidas até
então. As escavações das grandes propriedades rurais (uillae) ou dos depósitos
cerâmicos, a pesquisa do solo (survey) de territórios antigos tornaram possível uma
história da produção e das trocas que remete também a visão dada ao período por
textos nos quais a objetividade era a última preocupação do autor.
Os achados recentes, que certamente têm um lado espetacular, não devem,
entretanto, fazer negligenciar tudo o que se pode tirar de uma releitura de textos
conhecidos e comentados em certos casos após séculos: Libânio, os textos jurídicos
relativos ao “colonato” ou à fiscalidade... Da mesma forma, no domínio arqueológico,
a datação de materiais (cerâmica, mosaico) é muito recente ou ainda em curso: ela
traz bons sinais de progresso próximo da história econômica assim como da artística
e cultural. O retorno aos textos antigos conhecidos mas negligenciados ou mal
interpretados, literários, epigráficos ou papirológicos, é encorajado por edições
melhoradas e comentadas, e pelos próprios estudos textuais renovando seu valor
documental: pensemos na contribuição dos colóquios anuais sobre a História
Augusta, na relação da edição francesa deste texto por André Chastagnol, noutros
ainda, atualmente em preparação; nas edições comentadas de Zósimo por François
Paschoud, de Símaco por Jean-Pierre Callu e ainda por uma equipe de jovens
estudiosos italianos; nos textos de atribuição duvidosa (Spuria) de Sulpício Severo ; 15
em tantos textos históricos tão precisamente traduzidos e comentados na coleção
“Translated Texts for Historians” editada pela Liverpool. Pensemos na reconstituição
por Dominic Rathbone do dossiê de arquivos de exploração dominial de Heroninos
(século III) a partir de centenas de textos antes dispersos e, por isso, quase
inutilizáveis .
16
E se o “Baixo Império” não fosse mais o que era? (p. 24-25)
Que o “Baixo Império” não seja mais completamente o que era, é uma
informação que é obscuramente advinda até nos formadores de opinião através dos
escritos da mídia não especializada moderadamente informada dos avanços da
pesquisa atual. Um recente número especial de uma revista histórica para o grande
público parecia anunciar uma retomada dos clichês historiográficos (“Verdade ou
falsa decadência do Império Romano?”). Mas, era, neste artigo mesmo que trazia
este título, para perenizar um pouco melhor alguns dentre eles: as dificuldades
econômicas, a desmotivação do exército, a ação demolidora do cosmopolitismo e do
cristianismo. “As catacumbas do tempo de Domiciano – ali se lia – foram galerias de
topeiras cavadas com pouco barulho sob o Império Romano e que acabaram por
causar seu afundamento” : versão subterrânea da fórmula de Gibbon. Mais que
17
qualquer outro período da História, a “queda de Roma” continua então a erguer um
indispensável espelho deformante às inquietudes de nosso tempo. Sua descrição a
mais convencional continua a alimentar com clichês por suposição histórica as
profecias triviais de nosso próprio declínio: tirania do Estado, “invasão” (os imigrados
do Terceiro Mundo), barbarização dos valores nacionais, retalho cultural. Acaba que
a “queda do Império Romano” orna a retórica de uma conversação de balcão. Se nós
olharmos pelo lado dos historiadores especialistas do período, raros são os que se
engajam nas comodidades da comparação entre o “Baixo Império” e a decadência
contemporânea. Exceção notável, uma obra cujo título eloqüente, O Declínio de
Roma e a Corrupção do Poder, reintroduz o termo gibboniano de “declínio” não faz
mistério de seu objetivo: através da desventura romana, por em guarda contra a
possibilidade de um idêntico “declínio” dos Estados Unidos, em que a corrupção atual
seria causa e conseqüência. Melhor prevenir do que remediar: para Rostovtseff, o
mal já estava feito! Ao menos, o autor, que não renunciou às virtudes comerciais de
seu título, mas não quer parecer ignorar a direção tomada pela pesquisa recente
sobre Antigüidade Tardia, se afasta de seus confrades precisando, ao preço de
algumas contorções, que, no seu espírito, “declínio” não quer dizer “declínio” . De
18
toda maneira, mesmo tendo cuidado, muitos preconceitos subsistem, fórmulas
permanecem impressas nos espíritos, imagens nos olhos, tal como no quadro dos
“Romanos da Decadência” de Thomas Couture que ilustrava há pouco a Grande
Larousse em dois volumes. E depois, como renunciar a certos excessos fáceis da
eloqüência parlamentar, jornalística ou outra, quando a simples evocação de Roma
decadente dispensa inventar novas metáforas. O “fim do Império Romano” não
acabou com isso. Nossa proposta aqui é apresentar a nova visão de uma Antigüidade
Tardia desembaraçada de seu imaginário negativo e catastrófico: de um período da
História que não é nem o fim de um mundo, nem o começo de um outro, mas tudo
isto ao mesmo tempo, principalmente, um período possuidor de sua própria
identidade, de sua irredutível singularidade, que se deve estudar por ele próprio.
Tradução: Regina Bustamante
LHIA – IFCS - UFRJ
1 L’Antiquité tardive. Paris: Mentha, 1992. (Bibliothèque d’Orientation)
2 Edições sucessivas em 1776, 1781 e 1788.
3 Strasbourg: AECR, 1983.
4 p. 392 na edição francesa de Jean Andreau, Paris: Laffont, Coll. “Bouquins”, da qual se deve necessariamente
ler a introdução (ali se encontrarão especialmente as bases historiográficas do modernismo e do primitivismo,
noções que retornarão em várias partes na presente obra). A primeira edição é de 1926.
5 Trad. francesa: La fin du monde antique. Paris: NRF, 1973.
6 Turin: Einaudi.
7 MOMIGLIANO, A. “After Gibbon’s Decline and Fall”, retomado no Sesto contributo alla storia degli sudi
classici e del mondo antico. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 1980. p. 274.
8 VALLA, L. La donation de Constatin (sur la donation de Constatin à lui faussement attribuée et mensongère).
trad. et commentaires par J.-B. Giard. Paris: Les Belles Lettres, 1993.
9 Autor de uma História, cuja datação, dependendo do especialista, varia entre 378 e 395-396.
10 Outros viram diretamente em Nicômaco Flaviano o autor da Historia Augusta.
11 Sobre a renovação do domínio e sobre uma de suas figuras maiores: ROUSSELLE. A. Jeunesse de
l’Antiquité Tardia. Les leçons de Peter Brown. ANNALES ESC 40: 521-528, 1985.
12 AUGUSTIN. Oeuvre. Paris: Bibliothèque Augustinienne, 1987, t. 46B (ver Les Lettres de saint Augustin
découvertes par Johannes Dijvak. Paris: Études Augustiniennes, 1983); Dolbeau, F.(éd). Saint Augustin,
Vingt-six Sermons au peuple d’Afrique. Paris: Études Augustiniennes, 1996.
13 Dionisotti, A. C. From Ausonius’schooldays? A schoolbook and its relatives. JRS 72: 83-125, 1982.
14 Hurst, A. et al. (ed.). La Vision de Dorotheos (anônimo). P. Bodmer XXIX. Cologny-Genève: Biblioteca
Bodmeriana, 1984.
15 Exumados por Sirks, S. J. B. Bollettino Intern. di Diritto Romano 85: 143-170, 1982; explorados por
Lepelley, C. Antiquités Africaines, 25: 239-251, 1990.
16 Sob esse aspecto ver o capítulo 8, p. 538-540.
17 Historia: 17, jan.-fev. 1997.
18 MacMULLEN, R. Le déclin de Rome et la corruption du pouvoir. Paris: Les Belles Lettres, 1991 (trad.
francesa), introdução e p. 265.
Você também pode gostar
- Fontes Documentais sobre o fim do Império Romano do Ocidente: a crônica sobre Teoderico e a crônica do conde MarcelinoNo EverandFontes Documentais sobre o fim do Império Romano do Ocidente: a crônica sobre Teoderico e a crônica do conde MarcelinoAinda não há avaliações
- O debate sobre o fim do Mundo AntigoDocumento2 páginasO debate sobre o fim do Mundo AntigoJoji RereAinda não há avaliações
- Queda Império Romano FatoresDocumento3 páginasQueda Império Romano FatoresVitor RochaAinda não há avaliações
- Nostalgia imperial: Escravidão e formação da identidade nacional no Brasil do Segundo ReinadoNo EverandNostalgia imperial: Escravidão e formação da identidade nacional no Brasil do Segundo ReinadoAinda não há avaliações
- Guia - Cruzados X Sarracenos PDFDocumento61 páginasGuia - Cruzados X Sarracenos PDFLuís Alves PortoAinda não há avaliações
- BOY, Renato - Bizâncio e o OcidenteDocumento13 páginasBOY, Renato - Bizâncio e o OcidenteAugustoXavierAinda não há avaliações
- Era Uma Vez A Crise Do Imperio Romano NoDocumento17 páginasEra Uma Vez A Crise Do Imperio Romano NoCristian MacedoAinda não há avaliações
- Queda do Império Romano: Debate sobre as teorias de GibbonDocumento5 páginasQueda do Império Romano: Debate sobre as teorias de GibbonTales Felipe FerreiraAinda não há avaliações
- Do Império Romano aos Reinos GermânicosDocumento13 páginasDo Império Romano aos Reinos GermânicosIntrodução Estudos HistóricosAinda não há avaliações
- 3496-Texto Do Artigo-12768-2-10-20201223Documento6 páginas3496-Texto Do Artigo-12768-2-10-20201223Maria Júlia Fonseca NascimentoAinda não há avaliações
- Antiguidade TardiaDocumento3 páginasAntiguidade TardiaBruno Cézar M. SAinda não há avaliações
- Do Império Romano aos reinos germânicosDocumento13 páginasDo Império Romano aos reinos germânicosCantalicioAinda não há avaliações
- O Fim Do Mundo AntigoDocumento12 páginasO Fim Do Mundo AntigoSilvia Aline RodriguesAinda não há avaliações
- Contestado Artigo VanessaDocumento24 páginasContestado Artigo VanessaRevistasAinda não há avaliações
- Fichamento Concluido Med. 1Documento4 páginasFichamento Concluido Med. 1Rhael ClayAinda não há avaliações
- Nao Me Chame de Senhor Pois Eu Sou UmaDocumento82 páginasNao Me Chame de Senhor Pois Eu Sou UmaFelipeAinda não há avaliações
- A queda do Império Romano: fatores que contribuíram para o declínioDocumento8 páginasA queda do Império Romano: fatores que contribuíram para o declínioBIANCA DA COSTA DA SILVAAinda não há avaliações
- BARRO - A Passagens de Antiguidade Romana Ao Ocidente MedievalDocumento14 páginasBARRO - A Passagens de Antiguidade Romana Ao Ocidente MedievalRebeca milca maria marquesAinda não há avaliações
- FABBRO, Eduardo. Tlon, Germanos, Lancas PDFDocumento13 páginasFABBRO, Eduardo. Tlon, Germanos, Lancas PDFWagner MadeiraAinda não há avaliações
- O Direito Romano Tardo-AntigoDocumento20 páginasO Direito Romano Tardo-AntigoEduardo Belleza AbdalaAinda não há avaliações
- Antonio Paim, Leonardo Prota e Ricardo Vélez Rodriguez - A Sociedade Feudal PDFDocumento37 páginasAntonio Paim, Leonardo Prota e Ricardo Vélez Rodriguez - A Sociedade Feudal PDFsemluzAinda não há avaliações
- O Ocidente Medieval Nasceu Das Ruínas Do Mundo RomanoDocumento6 páginasO Ocidente Medieval Nasceu Das Ruínas Do Mundo RomanoEduardo Ubaldo BarbosaAinda não há avaliações
- O Renascimento Carolíngio e a formação do Império de Carlos MagnoDocumento8 páginasO Renascimento Carolíngio e a formação do Império de Carlos MagnoIntrodução Estudos HistóricosAinda não há avaliações
- 02 - Antiguidade Tardia - Queda de Roma e A Formação Do Mundo MedievalDocumento4 páginas02 - Antiguidade Tardia - Queda de Roma e A Formação Do Mundo MedievalGuilherme piangersAinda não há avaliações
- Origem Feudalismo 40Documento2 páginasOrigem Feudalismo 40PaulAinda não há avaliações
- O Imperio Otomano e A Grande GuerraDocumento18 páginasO Imperio Otomano e A Grande GuerraRômulo de Souza LeiteAinda não há avaliações
- Artigo RomantismoDocumento7 páginasArtigo RomantismoMelanie LisboaAinda não há avaliações
- Aula 1Documento19 páginasAula 1Rogério PaixãoAinda não há avaliações
- 03 A História: Formação, Apogeu e Crise Do Sistema FeudalDocumento16 páginas03 A História: Formação, Apogeu e Crise Do Sistema Feudalhiinacio3Ainda não há avaliações
- Auto Biografa Santo AgostinhoDocumento8 páginasAuto Biografa Santo AgostinhoNivaldoAparecidoDiasMunizAinda não há avaliações
- RESUMO Origens Da Idade MédiaDocumento9 páginasRESUMO Origens Da Idade MédiaNatália CassianoAinda não há avaliações
- Entre a retórica e a crise financeira na Segunda Guerra Civil RomanaDocumento16 páginasEntre a retórica e a crise financeira na Segunda Guerra Civil RomanaDante ChagasAinda não há avaliações
- O fim do Império Romano: crise ou renovaçãoDocumento7 páginasO fim do Império Romano: crise ou renovaçãoCarlos RenatoAinda não há avaliações
- A aliança entre a Igreja e os reis germânicos na Idade MédiaDocumento32 páginasA aliança entre a Igreja e os reis germânicos na Idade MédiaJoãoAinda não há avaliações
- A transição da Antiguidade Clássica para o FeudalismoDocumento21 páginasA transição da Antiguidade Clássica para o FeudalismoMarcelo Dias100% (1)
- A Idade Média: Mais do que trevasDocumento24 páginasA Idade Média: Mais do que trevasEmily LarissaAinda não há avaliações
- Maria Sonsoles Guerras - Romanismo, Germanismo e Cristianismo Nos Séculos V - ViDocumento73 páginasMaria Sonsoles Guerras - Romanismo, Germanismo e Cristianismo Nos Séculos V - VinojehkvtblaaAinda não há avaliações
- A Queda de Roma e o fim da civilização de Ward-PerkinsDocumento5 páginasA Queda de Roma e o fim da civilização de Ward-PerkinsCaio CesarAinda não há avaliações
- Mapeamento - Parte I 'Do Mundo Antigo Á Cristandade Medieval'' - A Civilização Do Ocidente Medieval - Jacques Le G Campina Grande, 2023Documento5 páginasMapeamento - Parte I 'Do Mundo Antigo Á Cristandade Medieval'' - A Civilização Do Ocidente Medieval - Jacques Le G Campina Grande, 2023Lavynnia VasconcelosAinda não há avaliações
- Por que se interessar pela Idade MédiaDocumento4 páginasPor que se interessar pela Idade MédiaKaio CavalcanteAinda não há avaliações
- 1 Transição Do Mundo Antigo para o MedievalDocumento2 páginas1 Transição Do Mundo Antigo para o MedievalJosé InácioAinda não há avaliações
- Fichamento Texto - A Civilização Do Ocidente Medieval - Le Goff - Medieval IDocumento1 páginaFichamento Texto - A Civilização Do Ocidente Medieval - Le Goff - Medieval IPaulo FonsecaAinda não há avaliações
- Fichamento Perry Anderson Passagens Da Antiguidade Ao FeudalismoDocumento21 páginasFichamento Perry Anderson Passagens Da Antiguidade Ao FeudalismoAndreia Lopes67% (3)
- IDADE MÉDIA - Alta e Baixa e FeudalismoDocumento9 páginasIDADE MÉDIA - Alta e Baixa e FeudalismoNOSSA SRA DO DESTERRO C E C-EF MAinda não há avaliações
- Laura de Mello e Souza Idade Media e Epoca ModernaDocumento21 páginasLaura de Mello e Souza Idade Media e Epoca ModernaAntonio Neto100% (1)
- A Passagem Da Antiguidade para o Feudalismo Pelo Prisma de Perry AndersonDocumento13 páginasA Passagem Da Antiguidade para o Feudalismo Pelo Prisma de Perry AndersonThaty Cris0% (1)
- A Ascenção Da CavalariaDocumento15 páginasA Ascenção Da CavalariaMatheus Gonzales DiasAinda não há avaliações
- Queda Do Império RomanoDocumento8 páginasQueda Do Império RomanoMarcos FranAinda não há avaliações
- Resumo Idade MediaDocumento6 páginasResumo Idade MediaDa Graça EmyltonAinda não há avaliações
- Late Antiquity, the Fall of Rome and the DebateDocumento34 páginasLate Antiquity, the Fall of Rome and the DebatePedro CarvalhoAinda não há avaliações
- Resenha do livro A Era dos Extremos de Eric HobsbawmDocumento14 páginasResenha do livro A Era dos Extremos de Eric HobsbawmJorge MiklosAinda não há avaliações
- 3 - Resenha RomaDocumento8 páginas3 - Resenha RomaJoão Victor ÁvilaAinda não há avaliações
- A-os Centros e as Periferias Na Ordem Poltica InternacionalDocumento8 páginasA-os Centros e as Periferias Na Ordem Poltica InternacionalazevedomanuelquessongoAinda não há avaliações
- História da Idade Média e do IslãDocumento5 páginasHistória da Idade Média e do IslãFABIANA RAMOS DA SILVA ARNONIAinda não há avaliações
- A Architectura Religiosa Na Edade Media IIIDocumento67 páginasA Architectura Religiosa Na Edade Media IIIBenjamín GarcíaAinda não há avaliações
- Romanização e Os Séculos XX e Xxi A Dissolução de Um ConceitoDocumento19 páginasRomanização e Os Séculos XX e Xxi A Dissolução de Um ConceitoIgor MarconiAinda não há avaliações
- Fichamento - BaschetDocumento3 páginasFichamento - BaschetJulia Neffa ela-delaAinda não há avaliações
- Do Império Romano ao FeudalismoDocumento13 páginasDo Império Romano ao FeudalismoBRUNA BONAITA DE OLIVEIRAAinda não há avaliações
- A visão abrangente da Idade Média de Hilário Franco JúniorDocumento3 páginasA visão abrangente da Idade Média de Hilário Franco JúniorAglailson Silva67% (3)