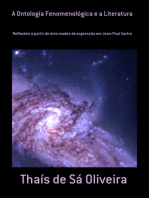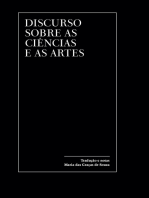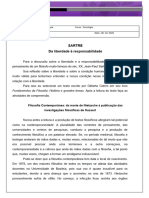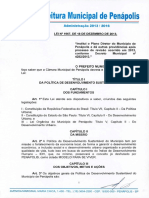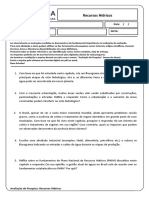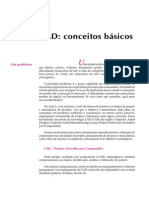Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Homenagem A André Gorz
Enviado por
daniel.f.ricciTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Homenagem A André Gorz
Enviado por
daniel.f.ricciDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Apresentação*
Iram Jácome Rodrigues e Josué Pereira da Silva
Eu me vejo como um filósofo fracassado que, por meio de ensaios aparentemente *Este Dossiê originou-
políticos ou filosóficos, tenta fazer passar de contrabando reflexões originalmente se de uma “Sessão Es-
pecial” no Encontro da
filosóficas... Eu não compreendo a filosofia à maneira dos criadores de grandes
Anpocs de outubro
sistemas filosóficos, mas como a tentativa de se compreender, de se descobrir, de se 2007, organizada para
liberar, de se criar. A vida, e a vida humana em particular, é autocriação... O que homenagear André
importa compreender antes de tudo é que um Ser só pode se compreender, se Gorz, que se suicida-
liberar, ser responsável por si mesmo na medida em que é consciente de produzir- ra, juntamente com
sua mulher Dorine, em
se a si mesmo: onde ele se vive como sujeito de sua existência (André Gorz)1.
setembro daquele ano.
Esta passagem diz, ao mesmo tempo, muito e pouco sobre André Gorz. 1. Trecho de uma entre-
vista de André Gorz,
Muito porque parece revelar um traço de sua personalidade, perceptível
concedida a Martin
sobretudo para quem o conheceu pessoalmente: seu jeito discreto podia ser Junder e Reiner Mais-
confundido com timidez. Pode, por outro lado, dizer pouco porque parece chen, durante um se-
não fazer jus à importância de sua obra, já naquela época, como uma con- minário na Alemanha,
tribuição para a teoria social contemporânea. Mas talvez tudo isso se expli- em outubro de 1983; a
entrevista foi publicada
que também pela compreensão que tinha de si mesmo – evidente já em
em inglês como um
seus primeiros escritos e desde sua primeira infância – como um estranho “afterword” ao livro
neste mundo de alienação; mundo que, aliás, foi objeto constante de crítica The Traitor, pela edito-
em toda sua obra; lutou, portanto, por um mundo no qual as pessoas pu- ra Verso, em 1989, pp.
dessem ser sujeitos de sua própria existência até seu último ato. A morte 273-307; ela foi tam-
bém publicada em
por suicídio junto com Dorine, com quem partilhou a vida por sessenta
Vol21n1-d.pmd 9 7/7/2009, 17:11
Apresentação, 9-13
francês recentemente, anos, em setembro de 2007, embora tenha chocado e surpreendido muitos
no livro organizado em de nós, foi ao que tudo indica uma escolha existencial, condizente com sua
sua homenagem por
filosofia.
Christophe Fourel, An-
dré Gorz: un penseur
pour le XXIe siècle, Paris, De Viena a Paris
La Découverte, 2009,
pp. 179-197. André Gorz nasceu em Viena, na Áustria, em 9 de fevereiro de 1923; ou
melhor, ele só nasceu bem mais tarde, 1958. Quem nasceu em Viena, em
fevereiro de 1923, foi Gerhardt Hirsch, filho de Robert Hirsch e Maria
Hirsch. Robert e Maria, ele judeu e ela católica, trocaram o Hirsch por
Horst em 1930 para se protegerem do antissemitismo então emergente, fa-
zendo com que nosso personagem tivesse um segundo nascimento. Assim,
em 1930, aos 7 anos de idade, Gerhardt Hirsch tornou-se Gerhardt Horst.
Em 1939, quando a Áustria foi ocupada pelo exército de Hitler, Gerhardt
2.A expressão “um dis- tinha 16 anos de idade; com a prisão de seu pai, sua mãe achou por bem
cípulo emancipado” é
enviá-lo para a Suíça, para evitar sua convocação ou mesmo uma eventual
de Christophe Fourel;
ver a introdução do li-
prisão. Ali frequentou o Instituto Montana, perto de Zurique, e foi então
vro citado na nota an- que decidiu dedicar-se ao estudo da língua francesa. Mudou-se para Lausanne
terior. em 1941, para estudar engenharia química, onde também entrou em con-
3.Ver, a respeito, Josué tato com os escritos de Sartre, de quem se tornou “um discípulo emancipa-
Pereira da Silva, André do”2 e cuja obra constitui-se numa das principais influências em sua forma-
Gorz: trabalho e políti- ção intelectual. Além de Sartre, Karl Marx e, mais tarde, Ivan Illich são
ca, São Paulo, Anna- outros dois autores em quem Gorz buscou inspiração3. Porém, ele encon-
blume, 2002; Finn
trou-se com Sartre pela primeira vez somente em 1946, em Genebra, du-
Bowring, André Gorz
and the Sartrean Lega- rante uma conferência do filósofo francês, para a qual ele fora convidado
cy, Londres, Macmi- por ser um dos poucos que, na Suíça, conhecia a obra de Sartre.
llan, 2000; Françoise Conheceu Doreen Keir em 1947; os dois se casaram em 19494, mesmo
Gollain, Une critique ano em que foram morar em Paris, onde Gorz também começou a traba-
du travail, Paris, La
lhar como jornalista, a partir de 1951. Ao naturalizar-se francês, em 1954,
Découverte, 2000.
Gerhardt se transformou em Gérard. Seu nome passou então a ser Gérard
4.Doreen Keir passou Horst. Mas em 1955, ao começar a escrever para o recém-fundado L’Express,
então a se chamar Do-
ele adotou o pseudônimo de Michel Bosquet; Bosquet, tradução francesa
rine Horst.
do alemão Horst, significa pequeno bosque. Foi com esse nome, Michel
5.Ver Critique du
Bosquet, que ele publicou seus primeiros escritos sobre ecologia5.
capitalisme quotidien,
de 1973; Écologie et po- Em 1958 publicou seu primeiro livro, Le traïtre, um ensaio teórico-
litique, de 1975; e autobiográfico no qual combina marxismo e psicanálise para analisar sua
Écologie et liberté, de própria história de vida; é nesse livro que utiliza pela primeira vez o pseu-
1977. dônimo André Gorz, nome com o qual se tornou mundialmente conheci-
10 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 10 7/7/2009, 17:11
Apresentação
do. Gorz é o nome de uma pequena cidade na fronteira da Itália com a
atual Eslovênia; e ele o tirou dos binóculos fabricados naquele lugar, que
ganhara de seu pai na adolescência. Por falar em pseudônimo, aliás, nesse
mesmo livro Dorine e Sartre aparecem também com os pseudônimos de
Kay e Morel, respectivamente.
De 1958 a 2006, Gorz publicou dezessete livros; em 2008, após sua
morte, veio a público mais um, totalizando dezoito livros. Neles, seu autor
aborda diversos temas; os três primeiros livros são os mais filosóficos, em-
bora também lidem com os problemas sociais e políticos, que predominam
nos livros posteriores. Os livros das décadas de 1960 e 1970 destacam-se,
sobretudo, por estarem mais voltados para as questões do trabalho e da
estratégia operária; embora já se façam presentes em textos anteriores, a
crise do capitalismo, a redução do tempo de trabalho e a ecologia tornam-
se seus temas preferidos nos textos do final da década de 1970 em diante.
Dois de seus livros são autobiográficos, Le traïtre, de 1958, e Carta a D., de
2006, o último que ele publicou em vida.
No conjunto, seus escritos – livros, artigos e entrevistas – formam uma
obra considerável, que se destaca tanto por seu perfil crítico quanto pela
capacidade de detectar a dinâmica das mudanças sociais contemporâneas;
e, como teórico crítico, ele também se preocupou em formular propostas
que apontassem para o horizonte de uma sociedade mais justa e humana.
Foi assim na década de 1960 e início da década seguinte, quando, acredi-
tando ainda nas possibilidades de uma revolução liderada pelo proletariado
industrial, propunha uma estratégia de reformas revolucionárias que procu-
rava vincular as lutas cotidianas nas fábricas pelo controle do processo de
trabalho com as políticas sindicais e partidárias, de forma que as reivindica-
ções mais imediatas se articulassem com uma estratégia mais ampla de trans-
formação social. E foi assim também a partir de 1980, quando publicou tal-
vez o seu livro mais famoso Adeus ao proletariado, cujo título já sugere uma
radical mudança na posição que atribuía ao operariado industrial quanto ao
seu papel de liderança num processo de transformação social. Dessa forma, a
análise de Gorz se baseava, de um lado, na crítica, ecologicamente inspirada,
ao crescimento econômico destruidor do ambiente natural; e, de outro, na
impossibilidade de apropriação coletiva do aparelho produtivo por um pro-
letariado que estava, aliás, sendo substituído pelas tecnologias associadas
com a microeletrônica. Em tal situação, ele vislumbrava como saída para a
crise social daí resultante uma política programada de redução do tempo de
trabalho, a ser completada com um salário social e pelo incentivo às ativida-
junho 2009 11
Vol21n1-d.pmd 11 7/7/2009, 17:11
Apresentação, 9-13
des com valor social, mas sem valor de mercado. Em dois de seus últimos
livros, Misérias do presente, riqueza do possível, de 1997, e O imaterial, de
2003, nos quais aborda a questão da emergência do imaterial, ele radicaliza
ainda mais sua posição, propondo a quebra do vínculo entre trabalho e ren-
da e adotando a proposta da renda básica incondicional.
Os textos deste Dossiê
Dos quatro artigos que compõem o dossiê, o primeiro, sobre envelhe-
cimento, é do próprio André Gorz. Nesse texto, cuja preocupação de fun-
do parece ser a finitude da experiência humana, Gorz reflete sobre o tema
por meio dos vários itinerários do envelhecimento de um indivíduo: o
orgânico, biológico ou psicológico, mas também o envelhecimento so-
cial. Podemos ver, assim, como ele aborda a finitude da experiência hu-
mana no contraponto do tempo biológico, individual, com a dimensão
especificamente social do tempo. A pergunta que perpassa o texto e está
nas primeiras linhas do mesmo é a seguinte: “como entrar nessa socieda-
de sem renunciar às possibilidades e aos desejos de que somos portado-
res?”. O problema é que com o passar dos anos, tanto no aspecto indivi-
dual como no social, a amplitude das possibilidades, e por que não dizer
da liberdade, tende a diminuir; o horizonte de nossas escolhas acaba por
se estreitar. Assim, ao refletir sobre sua condição, na idade madura, o in-
divíduo toma consciência de que o envelhecimento trouxe “um conjunto
de interditos, de limites, de obstáculos insuperáveis [...] neste universo
mítico e fetichizado da abundância”.
No segundo texto, “A tensão entre tempo social e tempo individual”,
Josué Pereira da Silva retoma o tema do envelhecimento, tratado por Gorz
no primeiro texto, mas discute-o no contexto do conjunto de reflexões
do autor a respeito do tempo. Silva observa que nos escritos de Gorz apa-
recem três formas de abordagem da questão do tempo. A primeira refere-
se a uma axiologia de valores, que tem como referência as três dimensões
temporais – passado, presente e futuro – e tem uma estreita relação com a
ação dos indivíduos na sociedade. A segunda trata da mesma relação en-
tre tempo e envelhecimento – objeto do texto de Gorz publicado neste
Dossiê – e lida com a dicotomia entre o envelhecimento orgânico e o
envelhecimento social do indivíduo. Já a terceira dimensão está vinculada
ao tema do tempo livre. Vale dizer, à contraposição entre tempo de traba-
lho e tempo livre. A tese de Silva é que o tratamento dado por André
12 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 12 7/7/2009, 17:11
Apresentação
Gorz à questão do tempo constitui-se numa chave importante para com-
preender a tensa relação entre indivíduo e sociedade que perpassa toda
sua obra.
No terceiro texto, “Estratégia operária e neocapitalismo”, Iram Jácome
Rodrigues analisa alguns temas propostos por André Gorz nesse livro de
mesmo título, publicado na primeira metade da década de 1960. Rodri-
gues situa esse trabalho de Gorz num conjunto mais amplo de estudos
desse autor, nos quais ele aborda a questão das transformações do capitalis-
mo nos países centrais no período pós-Segunda Guerra Mundial. Estratégia
operária e neocapitalismo, conforme seu nome sugere, coloca em pauta a
necessidade de novas estratégias para a ação do movimento operário e do
sindicalismo. O texto de Rodrigues segue o itinerário de Gorz no livro em
questão, discutindo a relação entre as reivindicações mais gerais e aquelas
mais específicas, e o papel desempenhado pelas demandas de tipo reformis-
ta na ação trabalhista; analisa também a concepção de Gorz acerca das
mudanças mais gerais no âmbito do capitalismo e, por extensão, das socie-
dades capitalistas mais desenvolvidas. E, por fim, discute criticamente a
questão do local de trabalho, da empresa, da fábrica, da produção como
locus fundamental da luta pela emancipação dos trabalhadores.
O texto de Ricardo Abramovay, “Anticapitalismo e inserção social dos
mercados”, completa o Dossiê. Nele, Abramovay analisa o pensamento de
Gorz em contraposição a alguns dos principais estudiosos da chamada nova
sociologia econômica, como Mark Granovetter, Neil Fligstein, Viviana
Zelizer e Philippe Steiner. O ponto de partida aqui é a interação entre mer-
cado e vida social. Para o autor vienense, a questão central é como diminuir
a ingerência do mercado seja na vida social, seja nas relações interpessoais.
A sociologia econômica, no entanto, parte de abordagem completamente
distinta: os mercados são não apenas a expressão da vida social como só
podem ser entendidos a partir desta. Essas diferenças se expressam tam-
bém, como observa Abramovay, por exemplo, no tratamento dado por Gorz
ao tema das redes sociais e dos softwares livres, bem como na reflexão sobre
a liberdade humana e a autonomia do sujeito na vida social.
Por fim, vale lembrar que o presente Dossiê, assim como a mesa que lhe
deu origem, foi pensado com a intenção de homenagear André Gorz. Em-
bora seus organizadores estejam cientes de que não foi possível abordar
aqui as diversas facetas da obra desse autor, eles também estão certos de que
o Dossiê contribuirá para estimular o interesse por sua obra.
junho 2009 13
Vol21n1-d.pmd 13 7/7/2009, 17:11
O envelhecimento
André Gorz
Tradução de Fernando Antonio Pinheiro Filho
Um dia, um adolescente tardio descobre que o caminho que tomou ao acaso vai
tornar-se irreversível. O portão está prestes a fechar-se atrás dele. Ele entra na idade
em que não se recomeça mais, a idade em que se começa a envelhecer, em que é
preciso aceitar ocupar na sociedade um lugar que nos fará existir como um Outro
entre os Outros. Bem antes de ser um destino biológico, o envelhecimento é um
destino social.
Esse fragmento, que se apresenta como um epílogo de O traidor, foi publicado em
Les Temps Modernes de dezembro de 1961 e janeiro de 1962 com o título de “O
envelhecimento”. Quarenta anos mais tarde, a questão aí explorada de modo
intransitivo permanece: “Como entrar nessa sociedade sem renunciar às possibili-
dades e aos desejos de que somos portadores?”.
Ele desceu na estação Franklin Roosevelt e viu na plataforma um painel
dizendo “Rejuvenesça teus rins”. Quando, quatrocentos metros adiante,
chegou ao prédio “La Flèche”, o painel o acompanhava: ele sabia sua idade.
Ele tinha 36 anos.
A experiência foi desagradável. Mobilizava retroativamente pilhas de pe-
quenos pensamentos instantâneos a que ele não havia prestado atenção e que,
à luz de sua descoberta, ganhavam um significado: ele tinha uma idade. Nem
sempre fora assim. Por muito tempo, durante os anos mais importantes de
sua vida (expressão que, escapando, o atordoou), ele não teve mesmo idade;
Vol21n1-d.pmd 15 7/7/2009, 17:11
O envelhecimento, pp. 15-34
recomeçava sem cessar, e os anos não contavam: ele não tinha mais idade
aos 23 que aos 22, e não era indo para os 24 ou mesmo os 25 que passaria
a ter. Agora isso mudara: 36 anos era já uma idade, 37 ainda mais: trata-se
da idade em que (por força de anúncios como “procura-se homem entre 30
e 35 anos” ou “homem com menos de 35 anos” ou “especialista certificado,
35 anos”) havia-se supostamente feito algo que nos determinasse e traçasse
definitivamente um caminho a ser seguido. Numa palavra, se ele não havia
feito nada, era já um fracassado, e se havia feito algo, era necessário insistir
nisso sob pena de tornar-se um. De todo modo, seu passado prefigurava
seu futuro.
Ora, o que o desagradava era precisamente o fato de que jamais visara
suas atividades sob esse ângulo: não tinha nenhuma certeza de querer per-
petuar a personagem pseudônima que há anos entregava artigos por enco-
menda e sob medida; entrara nessa atividade por acaso, facilidade e necessi-
dade de ganhar seu pão (após dois dias de estágio numa companhia de
seguros e na falta de oferta de livros para traduzir), jamais tivera a intenção
de fazer disso a atividade de sua vida, e eis que esse caminho vicinal que
tomara durante sua espera (de quê?, da vida que começasse de fato?) desig-
nava o homem que ele devia tornar-se. Sua vida estava prestes a soçobrar e
a voltar-se contra ele como o ser que ele devia fazer perpetuar, daí por
diante, até sua morte, porque ele era isso e nada além disso e não tinha mais
chances de mudar. E mais, ainda que mudasse, a partir desse ponto a idade
permaneceria. Ele tinha a idade em que envelhecemos: até os 30 anos, a
rigor, acumulamos um pouco ao acaso; passando dos 30, é preciso que a
acumulação renda; é o período em que se espera que o indivíduo social
chegue à maturidade; passados 35 anos é preciso que ele amortize a dívida.
Isso parecia simples, mas não o era absolutamente. A idade havia caído
sobre ele, que a via de fora como um conjunto de interditos, de limites, de
obstáculos insuperáveis (ele não faria mais um curso de mecânico, ele não
seria jamais piloto de carreira), e no entanto a evidência permanecia fugidia,
a intuição impossível: não havia idade em parte alguma de si, assim como
não havia evidência de que um dia deveria morrer. Um e outro, o envelhe-
cimento e o fato de que era mortal, eram realidades ao mesmo tempo oni-
presentes, vindas dos quatro cantos do mundo social, e perfeitamente opa-
cas à inteligência: eram escandalosas. [“Por que é preciso morrer?” “É assim
mesmo”, havia dito Maria. Ele gostaria de aceitar, como a cada vez que ela
dava essa resposta idiota, não podendo admitir que ela ignorava a razão
daquilo que afirmava nem, sobretudo, que ela aceitava ignorá-lo: como
16 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 16 7/7/2009, 17:11
André Gorz
quando ele quis saber por que, se a terra é redonda, as coisas do outro lado
não caem do céu; “porque a terra é um ímã”, ela havia dito, “um ímã atrai”;
ela lhe oferecera um; ele atraía os alfinetes e quando quis saber por que ela
respondeu “porque é um ímã”.] Os homens morrem porque são mortais, e
eles são mortais porque morrem, isso não se sustentava e, quando ele escu-
tava em suas orelhas o ruído de sua própria presença povoando a noite
universal, nada anunciava que essa presença pudesse um dia ter fim.
Ele nascera sem idade, aquém da imortalidade e da morte. A depender
de si, teria antes pensado (sentado no banco de madeira do trem 58, olhan-
do seus pés nos sapatos acinzentados de fundo de lã pendendo no vazio
enquanto um senhor gordo, em frente, escondido atrás de seu jornal, deixa-
va os seus repousarem pesadamente sobre o assoalho, parecia-lhe tão ridicu-
lamente inconcebível que seus pés pudessem um dia atingir o assoalho e seu
olhar decifrar os respingos negros) que existe a raça dos indivíduos nascidos
grandes e aquela dos pequenos e que os pequenos, supondo (como lhe afir-
maram) que pudessem tornar-se grandes, deveriam, para tanto, sofrer uma
metamorfose radical (como a lagarta em borboleta?), tão radical que apaga-
ria no grande a lembrança de sua medida comum com o pequeno.
Nada absolutamente nele indicava que pudesse crescer e esse processo
de “crescimento” que evoca um misterioso “tornar-se Outro”, cujo acaba-
mento, talvez, se manifestasse um dia por uma brusca metamorfose, ficaria
para ele no domínio do “eu disse”. “Quando você for grande”, dizia Maria,
ou “você é muito pequeno para compreender”, ou “você é muito grande
agora para usar esses cachos”, ou “logo você será um menino grande e irá à
escola”, ou ainda “quando estiver crescido, você partirá com outra mulher e
me deixará sozinha”. Assim, tais observações constantes e decididas o enve-
nenavam com a ideia de sua relatividade e de que seu estatuto era provisó-
rio, portanto que aquilo que vivia não tinha importância e só contava o
adulto que ele seria (“faço isso pelo teu bem, você me agradecerá quando
for grande”) e essa ideia o revoltava já que o adulto que ele seria não se
anunciava em parte alguma como sua possibilidade, era um futuro que
vinha deles apenas e lhes dava controle sobre ele, lhe conferia de imediato o
ser-Outro opaco e ininteligível do grande potencialmente contido no pe-
queno e a que este último era alegremente sacrificado. [Essa opressão exercida
cotidianamente sobre ele em nome do grande que ele seria ia tão longe que,
revoltado e desesperado por não ser jamais considerado por si mesmo tal
como existia presentemente, pôs-se a desejar não crescer jamais e a recusar,
seja com raiva seja com indiferença, os alimentos oferecidos porque “é pre-
junho 2009 17
Vol21n1-d.pmd 17 7/7/2009, 17:11
O envelhecimento, pp. 15-34
ciso comer para tornar-se grande e forte”, e só aceitar sem dificuldade o
mingau de sêmola e as sopas de farinha. Ele não queria tornar-se nem gran-
de, nem forte, nem inteligente, nem maior e mais forte que o pequeno
vizinho que roubava seus brinquedos; não queria ir nem à escola nem à
igreja, nem em excursões, nem estar diante de pessoas que infalivelmente
lhe diriam “quantos anos você tem? Ah, mas você é um menino grande” e
“mostre o que você sabe fazer” – porque ele era pequeno e queria ser tratado
como pequeno e estava cansado de ser para eles o inessencial em relação a
um essencial que não tinha nada, absolutamente nada, a ver com ele.]
Vocês podem, se o coração pedir, tirar múltiplas conclusões dessas obser-
vações; considerar, por exemplo, que essa experiência precoce da opressão,
obrigando-o à revolta desde a idade de dois ou três anos, provocou a tomada
de consciência de sua subjetividade (e, mais precisamente, da inadequação e
mesmo da oposição entre a subjetividade e a objetividade para outro) e essa
reflexividade que permanece uma constante em sua vida. Mas esse não é
precisamente meu objetivo. O que eu pretendo mostrar é que a idade –
tanto o número de anos como a ideia de maturação, de envelhecimento, de
vida e de morte sem os quais o desconto do número de anos não teria senti-
do – nos vem originalmente dos outros, que não temos idade para nós mes-
mos, mas apenas enquanto Outros, por referência tanto à longevidade mé-
dia dos indivíduos de nossa sociedade (voltarei a isso) como às etapas e
passagens iniciáticas para um estatuto novo que a sociedade institui sobre a
base dessa longevidade média. Antes mesmo que ele soubesse contar, outros
contavam os anos para ele [quando ele tinha três, vendo três velas sobre um
incompreensível bolo, ele fez nas calças] em função de um destino pré-fabri-
cado que queria que ele fosse à escola aos 6 anos e se preparasse para essa
grave prova; e desde que entrasse na escola (mudo de terror ante a metamor-
fose que devia mudá-lo de bebê em escolar) soubesse que sua vida, a perder
de vista, estava traçada e que ele estava acorrentado a um barco que, através
de doze provas anuais sucessivas (doze, duas vezes mais anos que ele havia
vivido até então!), devia levá-lo ao “certificado de maturidade” e daí...
Ele devia ter 7 anos quando, num domingo de primavera, seu pai o
levou (“os dois homens”) para um passeio de carro (um táxi cinza com
assento quebrado que se arrastava ruidosamente) a fim de lhe falar pela
primeira vez “da fábrica”. A fábrica, disse o pai, tinha necessidade de um
chefe jovem, e se ele fosse prudente e tivesse boas notas, aos 18 anos, quan-
do tivesse passado por seus exames de “maturidade”, compraria para ele um
carro (“se tudo corresse bem”) e faria dele o chefe de que a fábrica precisava
18 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 18 7/7/2009, 17:11
André Gorz
enviando-o à escola superior de comércio. Ele já não gostava muito do pai,
e quando o pai se pôs a desenvolver seus projetos deu-lhe a impressão que
buscava corrompê-lo, que decididamente não tinha nenhuma afeição por
ele tal como ele era, mas que queria, pelo chicote e pela cenoura, fabricar-
lhe uma vida e uma identidade Outras, conformes a considerações e exi-
gências perfeitamente estranhas à sua pessoa e que qualquer um poderia
(nós nos ocuparíamos disso a golpes de carros e escolas de comércio) satis-
fazer. Mas ele não queria ser qualquer um. Queria que o amássemos por ele
mesmo e não em função do Filho, do Chefe, do Herdeiro que se queria ver
nele com uma revoltante indiferença por ele mesmo, e então ele se fechou
num silêncio ofendido e disse a seu pai que ele preferia tornar-se médico ou
explorador. “Não há o que fazer com esse garoto”, disse o pai ao voltar, “ele
é tapado. É preciso fazer entrar as coisas a pauladas.” “Vamos, Jakob, temos
todo tempo”, disse Maria. “Você verá, ele vai mudar.”
Numa palavra, sua idade, na época, só tinha realidade heterônoma: o
fato de que lhe destinávamos uma certa vida – nós, quer dizer, a família
que, no caso, exprimia apenas as exigências da fábrica, exigências que, por
si mesmas, suscitavam um ciclo de estudos capaz de satisfazê-las – e que
essa vida, pré-fabricada em função de exigências que a subordinavam como
seu meio, o designava como um indivíduo geral, tanto um qualquer como
Outro, que percorreria suas etapas: ele vencera a da escola primária há um
ano, estava a três anos da entrada no secundário, a onze anos da universida-
de, a quinze anos da “vida profissional”, e depois ele teria filhos, pensava-se,
o mais cedo possível, porque preocupava muito a seu pai ter se casado aos
40 anos e ter de esperar até 65 anos sua substituição por seu filho. Sua
idade, numa palavra, era uma dimensão de seu ser social, de seu ser-Outro.
A idade social, em seu meio, dominava tão exclusivamente as preocupa-
ções educativas que ele não suspeitava mesmo que pudesse ter uma idade
fisiológica: uma maturação do organismo, seguida de um desabrochar, de
um desgaste, de um declínio. [Eram coisas de que não se falava. Ele ignorou
por mais de um ano o sentido dos sintomas da puberdade. E durante os dois
anos que em seguida ele passou ainda com sua família, entre todos os adul-
tos apenas o padre obeso encarregado do catecismo, tecendo um fio de sali-
va a cada vez que abria os lábios, abordou o tema para alertar contra “certas
alegrias diabólicas da carne”, “pecado mortal que obnubila o espírito, des-
trói as faculdades mentais e expõe ao risco de tornar-se permanentemente
idiota”. (Devo ter hesitado umas nove vezes, ele se dizia então. Como seria
inteligente se não tivesse feito!)]
junho 2009 19
Vol21n1-d.pmd 19 7/7/2009, 17:11
O envelhecimento, pp. 15-34
Assim, ele tinha o direito e mesmo o dever de ter uma idade social, mas
não o de assumir a idade de seu corpo: as exigências deste, em seu meio,
contrapunham-se às tarefas que a sociedade destinava aos adolescentes de
sua idade: havia a necessidade de que, aos 13, 15 ou 16 anos, permanecesse,
por uma boa meia dúzia de anos ainda, um filho submisso à autoridade dos
pais, e a maturação sexual, que tornava possível relações autônomas com o
outro, restritas à esfera da dominação parental, tornava-se a suprema deso-
bediência, o Mal por excelência: a negação do estatuto infantil em que sua
família esperava mantê-lo por muito tempo ainda. E não tenho plena cer-
teza de que essa contradição entre a idade fisiológica e a idade social possa
ser suprimida nas sociedades industriais: estas (e não apenas a sociedade
burguesa) necessitam de ao menos dezesseis anos para formar cidadãos ca-
pazes de conduzir suas máquinas e administrar seus aparelhos. O prolonga-
mento da escolaridade tem como reverso uma negação social da maturida-
de orgânica, ou, ao menos, das relações humanas cuja possibilidade existe
virtualmente desde a aproximação da puberdade. Essa defasagem entre as
possibilidades orgânicas e o estatuto social, que as condena a existir apenas
no vazio, produz e define a adolescência. Ela não existiu em outras socieda-
des. Ela é a reserva feita a indivíduos que, por sua maturação orgânica,
poderiam ser adultos, mas que, na ausência de maturação social, são man-
tidos sob tutela. Ele foi destes que viveram essa condição como uma grande
infelicidade. Foi destes que dificilmente se recuperaram dessa alienação pri-
meira e opressiva de sua vida afetiva e corporal.
Tudo isso indica já claramente que alguém não se torna adulto em virtu-
de da idade, nem pelo desenvolvimento orgânico. De resto, o que quer dizer
“ser adulto”? Era a questão que ele se colocava começando essa digressão, já
que há dois anos, contra toda expectativa, ele sente que isso lhe aconteceu: o
peso da idade se infunde nele; é uma aventura complexa. Ainda há cinco
anos, ele não pensava que isso pudesse lhe acontecer nunca. Não existia ida-
de até então: nem 20, nem 30, nem, em seguida, 35. Eram números abstra-
tos, bons para os questionários e que não significavam nada: ele tinha aos 35
anos, como aos 22, segundo a esperança de vida desse continente, um futuro
suficientemente vasto para que nenhum de seus projetos se chocasse com a
possibilidade provável da morte como um limite demarcando o campo de
seus empreendimentos. E então, mesmo com alguma falta de fôlego devida
aos efeitos da nicotina, ele não observou uma maior resistência de seu corpo
ou da matéria à ação física. Um só fato, a rigor, denotava um envelhecimento
orgânico: o estreitamento da duração – parecia-lhe longo, há dez anos, subir
20 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 20 7/7/2009, 17:11
André Gorz
cinco andares, andar quinhentos metros ou ir de metrô de Sèvres-Babylone
a Concorde. Agora isso não conta mais; como se uma baixa geral do tônus –
ou seja, da quantidade de energia que ele é capaz de gastar num lapso de
tempo determinado – o tornasse menos impaciente diante dos tempos mor-
tos dos trajetos ou do pedaço de açúcar (que ele não usava nunca), cuja dis-
solução é preciso esperar; numa palavra, é-lhe necessário um pouco mais de
tempo agora para um mesmo trabalho, e, como ele suspeitara antes, esse re-
tardamento orgânico o adequa ainda melhor ao ritmo do meio ambiente.
Mas o envelhecimento não é apenas isso; é, ainda, uma metamorfose
social, bastante frágil, já que o que a condiciona pode desaparecer: a conti-
nuidade da vida após alguns anos. O essencial sem dúvida está aí. Se ele
nunca teve idade antes, é porque sua vida permanecia indeterminada e in-
forme. Ela não estava depositada em nenhuma realidade material que ele
pudesse sentir como durável. O que ele havia feito podia ser desfeito e não o
orientava em nenhum sentido determinado. Imponderável aos 32 anos
como aos 22, ele pensava nos classificados de emprego: tradutor em Paris ou
na Nova Caledônia, professor na Rodésia ou na Nova Zelândia, médico em
domicílio, químico, redator científico... Tudo era possível e tudo se equiva-
lia: a “profissão” era um ganha-pão que não podia fixá-lo nem fazê-lo rom-
per e de que ele se desnudaria a cada noite ao reencontrar a única realidade
que ele podia ter como sua: a das construções secretas que, sob o cone de luz
recortado ante a noite universal, ele urdia sobre pacotes de folhas escureci-
das. Realidade também imponderável, de que ele não ousava falar a nin-
guém (de medo, em parte, que desprezassem esse escritor inédito como um
possível pretensioso, mas de medo também que lhe colassem uma etiqueta),
que só tinha objetividade para ele (e constituía portanto a negação de toda
objetividade social) e talvez jamais tivesse outra. Temos o costume de cha-
mar de juventude essa condição relativamente indeterminada, em que o in-
divíduo ainda não inserido na prática social considera a sociedade um entra-
ve contingente e crê poder construir sua vida contra ela ou à sua margem,
segundo os desejos e os valores singulares que ele ignora ainda que estejam
(pela mediação de sua educação e de sua família) condicionados pela Socie-
dade e pela História que ele recusa. Mas a juventude, como toda idade, nos
vem de outro: dos adultos e dos velhos, daqueles que, percebendo que não
refarão sua vida, que não mudarão mais, que as aquisições a defender ou a
fazer crescer os tornam prisioneiros de sua objetividade e de suas exigências
inertes, experimentam a “seriedade da existência” e tomam por “jovens” os
que, não tendo ainda (ou não ainda no mesmo grau) interesses a defender,
junho 2009 21
Vol21n1-d.pmd 21 7/7/2009, 17:11
O envelhecimento, pp. 15-34
pretendem que uma vida se possa construir, e não se suportar como um
destino. E nesse intento, ainda, experimentam uma impotência radical con-
firmada por inoperantes e a cada vez mais ruidosas revoltas. Essa “juventu-
de” (Nizan e Sartre o disseram) é um produto burguês; não é uma idade
natural. Mas, mesmo numa sociedade sem classes nem propriedade, subsis-
te algo da juventude, idade social: é que, encontrando diante de si, cristali-
zadas em exigências materiais e em tarefas, as ações das gerações preceden-
tes, você não pode considerar com a mesma seriedade que elas os
imperativos já petrificados que elas legaram.
A isso chamamos “conflito de gerações”. Porque ele vivia numa socieda-
de ainda marcada pelo malthusianismo do período entre guerras, viveu esse
conflito como uma impotência particular: a França (e mesmo a Europa do
oeste) era um país de velhos. E as gerações jovens, muito minoritárias, devi-
am sofrer na opressão, na impotência, como um ser-menor, sua ausência de
ligação às tarefas, às exigências, às normas que os velhos haviam depositado
na matéria e consideravam sua propriedade. A inércia do mundo, sustentada
por uma práxis já petrificada e rotineira, pesava mais que os projetos dos
recém-chegados: eles não tinham chance de remodelar esse mundo à sua ima-
gem. Eles estavam destinados a viver como estrangeiros, sob tutela; sua ina-
daptação, sua disponibilidade, em vez de ser uma força potencial, fazia fi-
gura de leveza vagamente suspeita que era preciso perdoar fingindo uma
seriedade aplicada. E a juventude, no fundo, é talvez essencialmente isso: o
fato, para uma geração, de apreender sua idade jovem como um ser-menor,
de encontrar todos os postos ocupados por muito tempo ainda pelos velhos
e saber-se impotente para impor seus próprios projetos à orientação conge-
lada que os antigos imprimiram à História. Então esses projetos, vividos
como irrealizáveis após um momento de vã revolta, se paralisam nela. “Vocês
ainda são jovens”, lhes dizemos. “Não têm ainda a minha experiência. Quan-
do tiverem a minha idade, vocês verão...”. Mas eles não terão jamais essa
idade: à diferença da geração precedente que criou em parte as estruturas
que agora gere, eles não tiveram a oportunidade de criar: estavam destina-
dos, desde o nascimento, a ser os gestores de uma herança; foram jovens
aplicados e tristes, se casaram na hora certa, vestiram cedo o uniforme da
respeitabilidade e da ambição hierárquica para se fazer perdoar sua juven-
tude: os Chaban-Delmas, os Chalandon, os Debré, os Edgar Faure, os jo-
vens anciões da SFIO e do PC pertencem a essa geração.
Mas isso pode mudar rapidamente, e por volta de 1965 mudou na Ar-
gélia, em Cuba, no Japão: a curva demográfica, que preestabelecia há 35
22 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 22 7/7/2009, 17:11
André Gorz
anos que a juventude é o destino que os velhos te farão sofrer, anuncia que
amanhã a juventude será o destino imposto pelos jovens aos velhos. Isso
não significa que necessariamente a estrutura social deva mudar de forma
radical só por esse fato, mas representa um tônus diferente para todas as
mudanças potenciais e para a luta de classes. Mas esse não é o meu tema.
Queria mostrar apenas que a juventude, vivida como uma opressão parti-
cular nessa sociedade pós-malthusiana, pode parar de conhecer-se como tal:
quando, em Cuba, em certas nações da África (amanhã talvez na Argélia,
no Japão, na Turquia, no Brasil), os rapazes de 20 a 30 anos, relativamente
majoritários, conquistem o poder e imponham à sociedade seus projetos
(quaisquer que sejam, de resto), eles cessarão de se pensar jovens: eles são os
agentes que definem as normas, as perspectivas, as tarefas, eles são os que
avançam e não os retardatários, e mesmo que percam para si mesmos toda
noção de sua idade (e dos direitos ou deveres que essa idade lhes conferia
enquanto Outros), os Outros, agora, são os não jovens: a qualidade de
velho (a idade) lhes pertence como a raça vem aos oprimidos pelo opressor:
como sua dimensão de alteridade vivida. A situação se reverte: a “maturida-
de” se pensa como impotência e declínio diante da soberania vitoriosa da
“juventude” que, por seu turno, não se pensa; é doravante a transparência
da ação. E se a vaga demográfica conserva ou aumenta sua amplitude, os
dirigentes de 30 anos aprenderão sua velhice das normas estabelecidas por
aqueles de 25 anos ou menos.
E tudo que ele acaba de dizer mais acima sobre sua juventude encon-
tra-se relativizado: era uma situação de imponderabilidade, de disponibi-
lidade, de irresponsabilidade, para ele, por volta de 1950. Nessa data, na
Europa, ser jovem era isso: saber que os mais velhos comandavam o mun-
do e que, a menos que abraçasse suas perspectivas (e mesmo que o fizes-
se), você não contava. Era invejar da geração mais velha a chance de ter
feito a Resistência e ter acreditado poder reconstruir o mundo, e era saber
que se nasceu tarde demais; era certamente saber que a geração mais velha
havia perdido sua chance e que, ali onde ela falhara, não se teria chance de
vencer; era, a seguir, entender-se como uma geração para nada: formada e
impregnada pela ideologia dos mais velhos, não tinha tido parte em suas
vitórias provisórias nem em sua falência; nascidos tarde demais em rela-
ção a eles, era-se nascido cedo demais em relação à geração que, em segui-
da, a partir de 1965, lançaria talvez forças novas na contenda; de um modo
ou de outro era reconhecer o estado das coisas dadas como impossível de
modificação; era saber-se destinado a um papel de gestor, não de inven-
junho 2009 23
Vol21n1-d.pmd 23 7/7/2009, 17:11
O envelhecimento, pp. 15-34
tor. Ele foi jovem porque as circunstâncias sociais e históricas lhe retira-
ram todo controle sobre o dado e, reduzindo-o à impotência, provocava-
o a negar em retorno um mundo que o negava: era a tal ponto o mundo
dos outros (produzido por eles, mantido por eles) que ele não concebia mes-
mo que seus problemas pudessem se colocar diante dele; contestava de uma
só vez os dados dos problemas, os termos em que eram postos e as solu-
ções tentadas; ele os achava tão aberrantes e inúteis (Pacto Atlântico, guerra
da Coréia, rearmamento alemão, macarthismo, guerra da Indochina etc.)
quanto os sempiternos cuidados de seu pai com os negócios, vendo em
todos antes de tudo a deformação de uma realidade plurívoca e elástica
pelas estruturas mentais e os interesses esclerosados de gerações imbecis.
Nenhuma ação que pudesse reconhecer como sua ou decidir por si era
possível no mundo deles (salvo, a rigor, alguns assassinatos políticos cujas
armas ele polira em seus sonhos), nenhuma profissão ou função o esti-
mulava, toda atividade redundava em alienação num Outro pré-fabrica-
do pela inércia dos interesses e dos aparelhos em vigor.
Envelhecer era portanto isso: ver organizar-se uma sequência de eventos
e de experiências nessa nebulosa já presa, irremediavelmente, numa forma
imprevista, a que chamamos uma vida.
Há coisas que eu não faria mais, não viveria mais a febre das primeiras
descobertas e a fé em que tudo pode ser balançado pelas margens e recome-
çado de novo, o essencial (tentá-lo, querer lográ-lo sem ser desviado ou tor-
nado prudente pelas derrotas recentes, sem levar em conta os conselhos de
sabedoria, sem estar marcado diretamente pelo que se deu antes) não serei
mais eu que farei: dizer-se tudo isso é envelhecer. E se ele se diz isso, não é
por algum resto de masoquismo, é porque ele é dito assim pelos outros: não
é em sua cabeça que se gerou a ideia de envelhecimento, como um fantasma
que se pode conjurar, mas fora, no mundo que se faz sob seus olhos ela
nasceu e é de fora que ela toma posse dele como um pensamento sem sujeito
que o pensa no nível do ser e que ele se limita a denotar bem ou mal esperan-
do que outros (o que não vai demorar) a formulem contra si. Tenho já uma
vida que se arrasta nas coisas fora como um ser-fora e perdida para mim
mesmo, de que já não sou o senhor, já que, através dos que se servirão dela
como um trampolim, um contraponto ou uma matéria indiferente em vista
de seus próprios fins, esta vida, que se confunde mais e mais com sua época,
apagando-se nessa noite anônima, cessa de me pertencer, torna-se a caduci-
dade de projetos de que não serei mais o autor e que não me produzirá mais
do que eu não os produzi, e fará de mim pouco a pouco um Outro.
24 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 24 7/7/2009, 17:11
André Gorz
O envelhecimento é a experiência de não sermos mais daqueles que têm
todo o futuro e o tempo para si; é o fato de que, em relação à tua verdade,
haverá um depois; e que o que nos separa da verdade que será vivida após a
nossa é um excedente de condicionamento (o fato de que temos já lem-
branças demais e referências históricas demais, o fato de que as tentativas
novas nos evocam as antigas, o fato de que cremos saber que “o mundo não
foi criado em um dia” e que aqueles que pretendem refazê-lo imediatamen-
te “se iludem”). Pois, retroativamente, parece agora que a juventude é um
condicionamento menor e uma determinação menor do futuro pelo passa-
do; uma inércia menor a mover. Uma menor relatividade do presente, vivi-
da na medida mesma em que não tivemos, na idade adulta, a experiência de
que a verdade do presente será, ulteriormente evocada, histórica e transitó-
ria, que a relatividade de que se encontrarão afetados retrospectivamente os
presentes passados transporta necessariamente, prospectivamente, os pre-
sentes presentes e futuros.
E que, aos 36 anos, ele não pode mais acreditar com a mesma exclusiva
intensidade naquilo que quer como podia dez anos antes; a mediação histó-
rica não é mais uma ideia abstrata, mas a certeza comprovada de que existe
uma exterioridade passada em sua vida e um ser em instância de exterioridade
na interioridade do presente. Ele não pôde chegar aos 36 anos sem que se
insinuasse na certeza transparente do presente saber (mesmo que defeituo-
samente) que esse presente se converteu (e se converte, e se converterá, em
Outro); e esse saber “histórico-genético” já o separa das gerações mais jo-
vens. Há cinco anos, ele ainda era a testemunha acusadora que tomava os
mais velhos como responsáveis por tudo e que, não tendo parte em nada,
inocentava-se na revolta. Hoje, os garotos dez anos mais jovens apresentam
diante dele a mesma atitude: tenha ele parte em algo ou não, a seus olhos,
simplesmente graças à idade, ele é responsável pelo presente e pelo passado
pelo que fez ou omitiu-se; ele é parte, objetivamente, desses velhos por cujas
falhas estão os jovens onde estão, e se esses velhos, para ele, são os Outros, ele
não se sairá tão bem: ele é um desses Outros velhos, queira ou não. E não só
objetivamente: também pelo fato, sobretudo, de começar a “compreender”
muito bem. O essencial do envelhecimento está talvez aí: aos 16 anos, aos
20 anos, recebe-se o real de boca aberta, como um choque. Descobre-se
com escândalo as putrefações, as necroses, as servidões na alma dos pais, a
extorsão mundial do Cartel do Petróleo, a diplomacia bananeira da United
Fruit, a bandidagem organizada da Lemaire-Audoire, a futilidade do poder
e as ignomínias das carreiras. Ele não precisa buscar muito longe: do porquê
junho 2009 25
Vol21n1-d.pmd 25 7/7/2009, 17:11
O envelhecimento, pp. 15-34
disso tudo, está se lixando: é a monstruosidade do fato que conta e, quanto
menos se saiba de sua história, mais, em sua nudez, ele fere. Sente-se o gosto
de estripar os escroques, de ser morto na Guatemala, de dinamitar o plane-
ta. É necessário apenas apressar-se, pois se não o fizer de imediato, o hábito
nos anestesiará. Pode-se conservar o humor vingativo por cinco ou dez anos;
quando, depois, nada tiver mudado, quando as revoltas forem repisadas e
narrados muitas vezes os escândalos, chega o momento em que se mede a
impotência e se responde ao caçula que, vermelho de cólera, descobre por
sua vez o monopólio das Messageries Maritimes, as fraudes no SMIG ou a
alta do bife enquanto o boi aumenta de produção: “O que você quer que o
governo faça? Para mudar alguma coisa, é preciso antes fazer a revolução”. E
por meio dessa resposta você se descobre velho: você sabe, e você mediu a
inércia das estruturas, das estratificações, dos aparelhos, das práticas cristali-
zadas, dos milhões de quadragenários e quinquagenários nascidos nesse lixo
e cujas profissões e relações sociais estão gravadas na matéria e sustentadas
por objetos coletivos que eles nunca controlaram. Você conhece a impotên-
cia dos indivíduos e a solidão do Inumano que se nutre dos atos alienados e
os aduba como prêmio por seu consentimento em omitir-se. Você sabe
como tudo isso veio a ser, por quais deslizamentos, engrenagens, processos
chegamos e permanecemos lá sem que ninguém em particular pudesse ser
tido como contando (quando todos deveriam sê-lo), cada um tendo deixa-
do de agir por si mesmo para regrar sua conduta segundo as possibilidades
que lhe são designadas enquanto Outro. Numa palavra, o mundo e a Histó-
ria, no nível em que você chegou, é racional até em sua inumanidade, e você
poderia explicar os encadeamentos e os condicionamentos pelos quais um
imbecil limitado foi levado no fio da agulha a se proclamar Massu. Agora
você está perdido: vendo o que é como a resultante de um processo em curso
e vindo de longe, pode ainda gritar protestos, mas a convicção não está mais
lá; teus gritos são álibis. Se eles convencem, é porque enganam, pela magia
do verbo, sob a tepidez que te ganha. Você já viveu tempo demais para crer
realmente nas vinganças purificadoras, na possibilidade de refazer o mundo
com ideias ou sentimentos. Sabe que cada indivíduo só tem poder sobre o
mundo através dos instrumentos que o campo social lhe fornece e que esses
instrumentos, mesmo quando ele os remaneja para seu próprio uso, dese-
nham como um destino o sentido e os limites insuperáveis de sua ação. Você
acha a juventude idealista e você se lembra: é porque você também, nessa
idade, não dispunha de nenhum meio de ação que podia (sob pena de sub-
meter-se à impotência) contestar tudo, absolutamente: isto é, na gratuidade
26 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 26 7/7/2009, 17:11
André Gorz
mais pura. Agora você sabe que a contestação é prática sob pena de ser nula,
e que é necessário esperar mais da lógica das coisas do que das ideias dos
homens. Fazemos o que podemos. A cumplicidade com os agentes do crime
insinuou-se em você: antes de mais nada, você ganha convenientemente tua
vida, você tem, com mais de 35 anos, uma carreira, uma família, ou as duas,
para defender, o escândalo, para si individualmente, não é mais um obstácu-
lo, você sabe que não se morre disso e de certo modo vive-se disso. Então o
que quer que diga, você o diz por um resto de ponto de honra, em memória
de tua juventude morta, medindo no mesmo passo tua estagnação: não é
mais você que vai atiçar o fogo, você servirá melhor de caução e de
encorajamento para a ação que, unicamente, pode conduzir até o fim aque-
les que, ainda não habituados pela ocupação e pela idade ao apodrecimento
ambiente, e vítimas designadas do mundo que você legou, recusam de for-
ma radical as mutilações porque, justamente, eles ainda não as sofreram
nem tiraram vantagem delas.
Encontra-se aí o significado essencial que tem hoje “ser jovem”: é não ter
nada a perder e ser para si mesmo apenas indefinidas possibilidades a reali-
zar; é não ter propriedade, nem aquisições, nem interesses a defender – pois,
supondo que os tenhamos, somos velhos precoces, herdeiros ou sucessores
do destino pré-fabricado pelo legado dos antepassados – e, como
consequência, não ter outro ponto de vista sobre o mundo que o de suas
próprias exigências; é não ter feito ainda o suficiente para aceitar como uma
verdade da experiência que não fazemos jamais o que queremos e que não
quisemos jamais o que fizemos. Também a “integração” não chega por algu-
ma aceitação contratual da ordem estabelecida ou da fundação social reco-
nhecida: ela vem pela ação. Ela chega pelo fato de que você não tem hoje
eficácia, poder, realidade objetiva a não ser aceitando que os teus atos, ins-
crevendo-se no ser, articulando-se com o campo social e sendo predefinidos
por ele, te dotam, externamente, de um ser inerte obediente às leis e às forças
da matéria trabalhadas por Outros e te dando o significado de Outro entre
Outros. Você só tem poder, direito e posicionamento na medida em que,
assumindo o Ser-Outro, aceita agir sobre os Outros pelo peso da alteridade
inerte que teus atos passados representaram no meio do mundo.
Estar integrado é finalmente isso: considerar como essencial o Outro
pelo qual você tem controle sobre os Outros, é retomar nas condutas livres
as relações inertes entretidas, como coisa humana, com os outros homens-
coisa do campo social. É ser designado, pela objetividade dos atos passados,
como qualquer um (o Gorz, o Boqueteau) que, uma vez nomeado, vem a teu
junho 2009 27
Vol21n1-d.pmd 27 7/7/2009, 17:11
O envelhecimento, pp. 15-34
encontro como um certo Outro através do olhar do interlocutor que emba-
ralha uma lembrança fugidia (“Ah, aquele lá”), como um certo Outro irre-
tratável que vai mediar com sua inércia o diálogo que vai nascer e, à distân-
cia, tornar opaca a reciprocidade de duas transparências. (“Eu te conheço,
você é aquele que...”, que, revestido de prestígios ou de abominações que
representam para alguém essa qualidade social, é de pronto apreendido
como um homem dissimulado e posto na impossibilidade de dialogar de
rosto descoberto com um próximo inteiramente nu.) Você diria que é assim
desde sempre e que os homens, jovens ou velhos, se encaram mascarados,
que essa máscara, como sua roupa, é a socialização – isto é, a transformação
pela atividade inerte do campo social em coisa Outra – dos teus atos mais
singulares, e que salvo entre próximos e íntimos só conta e só entra em rela-
ções nas trocas entre indivíduos o “indivíduo social”, isto é, esse Outro que
designa seus atos não tal como os produziu, mas tal como foram retidos e
alterados pelo campo de alteridade comum (o domínio social).
No entanto, ele foi por muito tempo mais jovem que os outros: ele não
tinha recebido de nascimento qualquer identidade identificável (apressan-
do-se, de resto, em demolir os condicionamentos parentais) e teve a chance
bastante rara de refazer constantemente, numa idade em que outros já são
“homens”, a experiência de que tornar-se adulto é produzir, por mimetis-
mo, mutilação e violência, um certo Outro que todos reconhecem porque
também já são Outros, a partir de um indivíduo singular que não tinha
vocação para tornar-se nem precisamente isso nem precisamente aquilo.
“Isso não é nada, meu caro, isso ou outra coisa, o essencial está alhures.”
Ele se dizia isso enquanto aprendia as receitas deles, essa receita que chama-
mos de ocupação, que consiste em fabricar prontamente e com um interes-
se fingido objetos já predeterminados pela atividade anterior de Outros,
objetos que esperam seu homem nas ferramentas dispostas para tal uso, por
seus comandantes, ajudantes e contramestres, todos personagens que tiram
seu poder temível do fato de que, representantes oprimidos eles mesmos do
Outro, se limitam a transmitir a opressão. (“As pessoas”, dizia Leguille, “se
lixam em saber... Não queremos saber o que madame Beauvoir conta em
Os mandarins, mas sim que ela usava um pulôver verde e um chapéu rosa.”
“As pessoas”, dizia Ange, “querem que lhes falemos de Machin; todo mundo
fala dele, nós queremos ler um texto sobre isso.”) Ele fabricava desenvolta-
mente objetos úteis, com um método que rapidamente fazia funcionar.
Ele tinha uma profissão, oh surpresa!, isto é, um saber prático vendável,
ou seja, um valor de mercado. Ele podia, contra toda expectativa, ser útil aos
28 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 28 7/7/2009, 17:11
André Gorz
Outros (a seus fins Outros e detestáveis) ao ponto de, manifestando a ne-
cessidade que tinham dele, lhe oferecer dinheiro. A despeito do desprezo e
das prevenções recíprocas, na relação de forças e na luta que dominava o
sistema, ele às vezes se saía bem.
Numa palavra, ele estava socializado, integrado por sua profissão (ou
seja, por uma atividade determinada na alteridade e exigida pelos Outros
enquanto também servidores definidos na alteridade pelas exigências iner-
tes da maquinaria), do único modo pelo qual essa sociedade pode integrar
um homem: transformando-o num Outro que – representante de outros
Outros e de um desses objetos coletivos (fábrica, jornal, banco, igreja, pro-
priedades capitalizáveis e produtivas de interesse sob todas as formas) que
reinam sobre os homens e lhes designam uma função pretensamente útil –
extrai de sua própria alteridade os direitos e poderes: o sujeito de direito,
em essência, é o porta-voz do Outro, e da necessidade de que ele se faz
instrumento; é porque ele não age e não comanda nunca em nome próprio,
mas em nome da Coisa que o ultrapassa e governa de fora sua ação, que sua
palavra é implacável e indiscutível como a Coisa mesma. Todos executam,
ninguém é o inventor da tarefa. Em poucos anos, ele adquiriu um número
considerável de direitos e de poderes (a título provisório e revogável, pouco
importa), incluindo aqueles que dão dinheiro. E o dinheiro integra, talvez
mais ainda que a profissão.
Ele viveu essa experiência como a de uma queda: entrou no mundo dos
privilégios, davam-lhe direitos, refrigeradores, roupas, táxis, os automóveis
eram de fato para ele, para ele os homens trabalhavam duro na sujeira e na
fadiga, designando-o como o beneficiário de fato de suas penas. Tudo que
existia (as mercadorias, os vistos, os países, as viagens) estava lá para ele
também, o mundo, em vez de proporcionar a ubiquidade de sua exclusão,
se lhe oferecia, ele não tinha meio de recusá-lo. Numa palavra, ele valia por
seu preço numa folha de pagamento e por sua trajetória no mercado profis-
sional: aí estava o que ele era, objetivamente, fora de si mesmo; aí seu valor
social, seu interesse, sua segurança (na medida em que seu ser tinha a per-
manência do sistema que o determinava), seu direito. Ele entrava por essa
via na coletividade dos consumidores para os quais todas as riquezas são
produzidas, exibidas, publicizadas, e dos proprietários que, contra as pres-
sões e as ameaças do social, protegem-se construindo seu universo privado
de “bens” – com os materiais sociais que o mundo burguês lhes propõe para
esse tipo de construção. Ora, estar integrado nessa coletividade é (para nós
“clientes”, automobilistas, proprietários, compradores virtuais) estar inte-
junho 2009 29
Vol21n1-d.pmd 29 7/7/2009, 17:11
O envelhecimento, pp. 15-34
grado à civilização envolvente, é mesmo a única maneira de estar integrado
nela. E a categoria social mais radicalmente excluída e portanto voltada a
contestar essa civilização mais radicalmente, que pousa sobre ela um olhar
exterior e exteriorizante, porque não participa do processo produtivo nem
por seu trabalho nem por seus ganhos; porque não tem de fato ou de direi-
to qualquer renda, previdência ou título de propriedade sobre as riquezas
sociais, ainda que tenha uma tarefa social (que a sociedade, aqui, recusa-se
a assumir), é a massa difusa dos sem-profissão, dos sem-salário, dos sem-
teto, dos sem-futuro previsível, dos sem-interesse, dos sem-família, e parti-
cularmente desses emigrados do interior que são os estudantes pobres. São
eles, porque ele tinha sido um deles, que lhe serviam de referência; e tam-
bém porque os operários eram mais ricos do que ele. Como estes, ele vira a
sociedade pelo avesso. A renda fixa o fez vê-la do seu ângulo: um lugar de
consumidor e de produtor fora-lhe reservado desde então; ele seria aquilo
que tivesse.
O envelhecimento foi talvez antes de tudo essa “integração”: a produção
e ao mesmo tempo a mutilação de si mesmo como Outro, objeto a uma só
vez de orgulho (“tornei-me isso a partir do nada e os controlei”) e de revolta
(“eles me reduziram a isso, eles me controlaram”), e de uma resignação
envergonhada que diz: “É assim para todos, é preciso passar por isso ou
morrer de fome contemplando o Azul”.
Ele realiza o aspecto de covardia, isto é, de livre escolha, que implica a
afirmação dessa evidência. Pois é verdade que a perseverança em sua ativida-
de é também confortável. De saída porque, controlando o dinheiro, você é
formalmente senhor de si: você torna-se por si mesmo, interiorizando seus
regulamentos, o Outro que, ao longo de toda aprendizagem, a tirania dos
chefes te ensinou a imitar. Você não precisa mais obedecer suas ordens; você
as instalou em si, nenhuma voz estrangeira dita mais tua conduta, você está
adestrado: a autocensura substituiu a censura, a alteridade requerida tor-
nou-se hábito, e quando você abre a boca ou aciona a máquina de escrever a
palavra do Outro nasce de ti sem esforço. Você não é mais oprimido; opri-
me-se a si mesmo. E, num sentido, ganha com a mudança: estando suficien-
temente mutilado para conduzir-se como Outro com desenvoltura, faz a
economia de extenuantes revoltas. Se mudasse de atividade ou mesmo (a
sociedade permanecendo constante) de jornal, tudo recomeçaria; você não
seria mais livre. Há portanto essa desenvoltura na constrição tornada fami-
liar e como que íntima, e há outra coisa ainda: “teu futuro está garantido”.
Aqui, teu trabalho responde a uma demanda solvível, você se adaptou à
30 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 30 7/7/2009, 17:11
André Gorz
produção mercantil para a qual existe um mercado, você tem uma cota e
como que uma cotação na bolsa. Redator (ou engenheiro, ou vendedor, ou
tradutor...) “confirmado”: tuas capacidades não estão mais sob dúvida, você
já provou que, indivíduo singular, sempre um pouco inquietante e imprevi-
sível, poderia, a despeito de tua singularidade e de “Deus sabe” que exigên-
cias subversivas, produzir esses objetos cosméticos e artificiais que, em nos-
sas sociedades de consumo uniformizantes, devem atenciosamente
esconder sob seu verniz sem respingos o suor, o cansaço, a sujeira do trabalho,
as asperezas, as resistências, as usuras da matéria, a fim de refletir no consumi-
dor fascinado e enganado (à maneira dos manequins, dos Belmondos, dos
cenários de Chabrol, da Time Magazine, da Elle, das engenhocas aerodinâ-
micas e cromadas) o universo mítico e fetichizado da abundância: ou seja, o
universo arquifalso da elegância sem risco em que as mercadorias eclodem
instantaneamente e por magia graças apenas ao gesto desenvolto de puxar
uma nota de uma carteira, em que o dinheiro é o caminho mais curto entre a
necessidade e o gozo, em que a riqueza é poder de compra e raridade de pro-
dutos, raridade de numerário. Confirmado: está provado que, o que quer
que você seja (isso só diz respeito a você, melhor que ninguém saiba), você
sabe ser a personagem ficcional que a Maquinaria exige – ser significa pro-
duzir o ato requisitado sem esforço visível como consequência da sua “natu-
reza”, com a facilidade das peças lubrificadas. Homem confirmado, Outro
que não homem, homem conforme ao Outro, com essa “qualidade” que
chamam de “conformidade dinâmica”: não aquela, passiva, da matéria in-
forme, mas a do “chefe” que a rejunta e que “personaliza” seu ser-Outro
como se fosse o Outro-em-pessoa. Sabendo que você tem, em sua ocupação,
uma cotação, uma reputação estabelecida, um valor em capital (o que não
exclui que esse valor, no caso, seja frágil: sua reputação, como a das prostitu-
tas, dos atores, dos criadores de moda, deve-se ao encontro fortuito das suas
capacidades próprias com as normas impessoais de uma moda caprichosa),
uma carreira abre-se para você: o passado responde pelo futuro, e como o
comerciante, o médico, o industrial, o arquiteto estabelecidos, você passará
os anos que te restam a gerar teu fundo ou teu capital de experiência, teu
interesse. O passado apodera-se do futuro, os atos realizados petrificam a
liberdade que os realizou e lhe prometem, como prêmio de sua subordina-
ção ao ser, uma segurança de renda. Desde que você não mude de nome, de
atividade, de país, o passado daqui para frente qualifica o presente e, não
importa o que você tenha, o determina. É em função do passado que se
apreciam teus atos e por meio dele que se os avaliam. E você se encontra
junho 2009 31
Vol21n1-d.pmd 31 7/7/2009, 17:11
O envelhecimento, pp. 15-34
desde então nessa posição abjeta de ter, por tuas conquistas e por estar no
lugar, direitos, precedências, privilégios: porque teu nome é conhecido e tua
assinatura vendável (e também porque tua antiguidade na profissão te vale
credores, fidelidades, solidariedades de idade), teu produto, com a mesma
qualidade ou até com menos qualidade, terá prioridade sobre aquele dos
trabalhadores mais jovens. E porque insensivelmente tua estátua se adestra
e, vivo, você sente já a naftalina, o bálsamo, a honra, a urina do velho e do
cadáver em que tudo, daí por diante, te transforma, tornando-o “parecido
consigo mesmo”, você se põe a sonhar com as grandes catástrofes (revolu-
ções, guerras, crises, mortes dos próximos, longa doença na pior das hipóte-
ses) que cobririam o passado de escombros e te devolveriam a si mesmo, à
liberdade fresca das origens, jovem novamente, isto é, pobre e raso.
E no entanto não se trata de covardia, embora a covardia e a escolha do
conforto venham como significações objetivas sobrequalificar uma condu-
ta que a razão prática ordena: a saber, que a partir de um certo momento a
iniciativa de um homem conhece seus limites: suas coordenadas, suas fide-
lidades, suas ferramentas estão à disposição, ele as manejará talvez, mas não
as substituirá jamais por outras mais novas (ele não terá jamais uma segun-
da adolescência: os novos períodos formadores serão vividos partindo dos
antigos, como seu alargamento ou negação. Não haverá mais primeira vez,
começo de história); o novo daí em diante será produzido sobre a base do
antigo; o constituído imporá ao constituinte suas estruturas. O campo de
ação está definido, e define suas tarefas. Mais vale agora fixar-se nele. É
preciso continuar ou decidir que nada tem sentido. “Este é teu domínio;
você não terá outro.” A evidência do envelhecimento está aí. Ele não fora
feito nem para essa atividade nem para nenhuma outra, nem para tornar-se
esse homem nem nenhum dos outros possíveis. Ele teria gostado de ser
também e ao mesmo tempo agrônomo, geólogo, médico, montador de
rede de alta tensão, pescador, navegador (todas profissões itinerantes).
Ele não será mais nada disso. De início (porque haverá um após) porque
existe uma lei da ação que só evitamos evitando a própria ação: a saber, que
para agir é preciso fazer-se inerte. Para mover a matéria das coisas, é preciso
deixar seu peso assentar. O braço que fende a lenha deve equilibrar seu peso
e o pensamento, por mais especulativo que seja, imitar o movimento da
matéria, ponderar suas inércias e submeter-se a elas fazendo delas leis. Há
uma paciência do finito; imitando a matéria que trabalha, o agente deve
perseverar nesse trabalho até embrutecer-se e aceitar perder-se em proveito
do resultado. (Preferir a si ante qualquer resultado é a atitude do diletante. É
32 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 32 7/7/2009, 17:11
André Gorz
o que ele foi até aqui. É contra si que ele reivindica.) Seu Fazer está destinado
a voltar ao Ser; seu êxito será esse fracasso. Os resultados são detestáveis, e
ainda mais os dos que (aventureiros, santos, estetas) seriam preferíveis. É
preciso amar-se muito pouco para agir, renunciar imediatamente a coinci-
dir com esse Ser em quem o resultado congela no fim a ação que o produziu.
É apenas no começo (de uma vida, de um empreendimento, de um casal...)
que os fins determinam os meios a inventar, que o projeto configura o mun-
do à imagem de um objetivo que é ausência. Na medida em que se avança, os
meios forjados perpetuam na inércia de sua matéria a finalidade primeira (e
frequentemente já morta) de teus atos passados: no começo você era senhor
soberano fazendo surgir o nada de uma obra a fazer lá onde não havia nada
além de caos de materiais brutos, você forçava a matéria a imitar o homem.
Depois, os fins arruinados no agenciamento da inércia te lançam um olhar
de pedra e, contribuindo por inércia para o objetivo projetado, a matéria
impõe seus fins como sua própria lei e determina o homem, limita-o a
imitá-la. O fim da casa, do romance, do casal não é mais que o preenchi-
mento de vazios deixados pela atividade passada, e esse preenchimento (o
último toque dado no quadro, o último capítulo do romance), se requer
ainda tua liberdade, já a petrifica: não é mais ela que determina presente-
mente a natureza das tarefas; ela mesma é requisitada pelo que fez antes: teus
atos anteriores prefiguram os que devem vir a seguir. Tua liberdade passada
vem a teu encontro, de fora, com a necessidade de um destino. Você se torna
o servidor do agente soberano que foi um dia.
O resultado se faz a esse preço. É preciso aceitar estar terminado: estar
aqui e em nenhuma outra parte alhures, fazer isso e não outra coisa, agora
e não jamais ou sempre; aqui apenas, isso apenas, agora apenas – ter essa
vida apenas.
Resumo
O envelhecimento
A partir da exposição, sob a forma de relato literário, do sentido social do processo de
envelhecimento, o texto produz uma combinação inventiva entre ao menos três di-
mensões da questão: a juventude como adiamento das determinações sociais, a forma-
ção relacional da identidade com referência à introjeção de um papel social e o viés
alienante indissociável do assentamento no mundo adulto. Valendo-se da alternância
entre relato e análise e da remissão às circunstâncias do período em que foi escrito, o
junho 2009 33
Vol21n1-d.pmd 33 7/7/2009, 17:11
O envelhecimento, pp. 15-34
trabalho conserva seu frescor ao esboçar uma espécie de fenomenologia do vivido vol-
tada ao peso específico da definição profissional no capitalismo moderno.
Palavras-chave: Envelhecimento; Juventude; Identidade; Tempo social; Alienação.
Abstract
Aging
Based on the literary exposition of the social meaning of the aging process, this inno-
vative text combines a study of at least three dimensions of the topic: adolescence as a
postponement of social functions, the relational formation of identity through the
introjection of a social role, and the alienation indissociable with becoming part of the
adult world. Alternating between descriptive account and analysis, while citing a series
of contemporary events, the work maintains its freshness by sketching a phenomenol-
ogy of the lived world, focusing on the specific meaning of professional careers under
modern capitalism.
Keywords: Aging; Adolescence; Identity; Social time; Alienation.
André Gorz, filósofo
existencialista e jorna-
lista, nasceu na Áustria
em fevereiro 1923 e se
naturalizou francês em
1954. Foi editor de po-
lítica da revista Les
Temps Modernes duran-
te a década de 1960 e
editor de economia do
hebdomadário Le Nou-
vel Observateur, do qual
foi também um dos
fundadores. É autor de
diversos livros, entre os
quais se destacam Adeus
ao proletariado, Meta-
morfoses do trabalho, O
imaterial e Carta a D.
História de um amor.
André Gorz suicidou-
se em setembro de
2007, junto com sua
mulher Dorine.
34 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 34 7/7/2009, 17:11
Tensão entre tempo social e tempo individual
Josué Pereira da Silva
O objetivo do artigo aqui proposto é discutir as concepções de tempo pre-
sentes na teoria social de André Gorz. Desde seus primeiros escritos até os
mais recentes, é constante a preocupação de Gorz com o tema do tempo, de
forma que ao longo de toda sua obra podemos encontrar reflexões a esse res-
peito. O conceito de tempo ocupa, portanto, um lugar de destaque na obra
desse autor. Um exame mais cuidadoso de seus escritos revela, no entanto,
que no conjunto de sua obra há basicamente três maneiras distintas de abor-
dar o tema do tempo, consistindo cada uma delas na chave de entrada para
lidar com um conjunto particular de problemas. Na primeira, Gorz recorre
às categorias de tempo para construir uma axiologia de valores baseada nas
três dimensões temporais (passado, presente, futuro), utilizando-a como
fundamento para explicar as atitudes e as ações dos indivíduos na sociedade.
Na segunda, sua análise concentra-se na relação entre tempo e envelheci-
mento, destacando-se aí a contraposição entre dois tipos de envelhecimento
do indivíduo: o orgânico e o social. Na terceira, ele trata da relação entre
tempo de trabalho e tempo livre na sociedade contemporânea; esta terceira
abordagem é a mais conhecida das três, o que é perfeitamente compreensível
em razão do tema da duração do trabalho ter se tornado uma das principais
preocupações de seus últimos livros. Embora possam ser distinguidas anali-
ticamente, as três maneiras de abordar o tempo se relacionam mutuamente
no interior de uma concepção teórico-filosófica, como pretendo deixar claro
Vol21n1-d.pmd 35 7/7/2009, 17:11
Tensão entre tempo social e tempo individual, pp. 35-50
no artigo proposto. Meu ponto de partida é a hipótese de que há nos escritos
de Gorz uma relação tensa no tratamento da clássica antinomia entre indiví-
duo e sociedade; e de que uma análise das maneiras como ele lida com o
tema do tempo em sua obra ajuda a explicitar essa tensão, em especial no
contraponto que ele faz entre tempo social e tempo do indivíduo.
Ao discutir o problema da socialização em um texto da década de 1950,
Gorz escreveu as seguintes palavras: “Pelo fato de que meu ser me é inicial-
mente revelado pela mediação de Outros, a consciência que eu tomo de
minha vida natural é, ela também, antes de tudo mediada” (Gorz, 1977a,
p. 170). Este texto é bastante claro sobre a necessidade da intersubjetivida-
de, da interação com o Outro, como condição para a emergência da cons-
ciência do indivíduo; ou seja, o indivíduo é aqui um ser tipicamente social.
No entanto, em outro texto seu, de 1983, podemos encontrar, sobre o
mesmo assunto, a seguinte afirmação, que se não nega a anterior pelo me-
nos relativiza a importância da intersubjetividade implícita no primeiro
texto: “Os indivíduos autônomos são aqueles nos quais a socialização per-
maneceu defeituosa” (Gorz, 1983, p. 134). Nesse segundo texto, autono-
mia e socialização aparecem quase em oposição, como se a completude de
uma dependesse da incompletude da outra: o indivíduo para ser autônomo
não pode ser completamente socializado, pois se o for não será autônomo.
Esses dois textos são indicativos da tensão, a que me referi acima, pre-
sente na concepção de Gorz a respeito da relação entre indivíduo e socieda-
de, e que perpassa toda sua obra. Essa tensão pode ser resumida como uma
situação, aparentemente contraditória, na qual, de um lado, a própria exis-
tência do indivíduo só pode ser revelada pela mediação de outros, ou seja,
numa relação social intersubjetiva; mas, de outro, a autonomia dos indiví-
duos é concebida apenas em condições de socialização incompleta, o que
deixa entrever que, para Gorz, indivíduo e sociedade estão em permanente
conflito.
A seguir eu discuto esta tensão entre indivíduo e sociedade nos escritos
de Gorz mediante uma análise das três formas como ele aborda a categoria
tempo. Começo com a discussão do tempo na axiologia de valores que ele
constrói para analisar o que denomina conversão existencial. Essa estratégia
parece-me adequada, primeiro, porque é na axiologia de valores que apare-
ce a primeira abordagem sistemática do tempo em sua obra e, segundo,
36 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 36 7/7/2009, 17:11
Josué Pereira da Silva
porque se trata de um modelo filosófico, mais abstrato, que pode abrir
caminho para a discussão de suas duas outras abordagens sobre o tempo.
II
Gorz discute o tema da axiologia de valores em dois de seus livros: Fon-
dements pour une morale, escrito entre 1946 e 1955, mas publicado somen-
te em 1977; e Le Traïtre, publicado em 1958. O primeiro, escrito na esteira
do livro de Sartre L’être et le néant, de 1944, consiste na tentativa do jovem
Gorz de aprofundar suas reflexões sobre temas da filosofia sartriana; o se-
gundo é um texto autobiográfico, no qual ele utiliza a teoria desenvolvida
no primeiro livro para analisar sua própria história de vida (cf. Silva, 2002,
pp. 39-81).
Seu ponto de partida para construir a axiologia de valores é a filosofia
existencialista de Sartre, tal como aparece principalmente no livro L’être et
le néant. A propósito, no prefácio que escreve em 1976 para seu livro Fon-
dements pour une morale, Gorz afirma que a ontologia sartriana
[...] põe em evidência a tridimensionalidade do para-si, quer dizer, o fato de que a
existência específica deste ser consciente que é a realidade humana surge por três
negações solidárias (as três “ek-stases” temporais) que não se articulam com o ser
da mesma forma e constituem três tipos de relações e três planos de fuga axiológicos
(Gorz, 1977a, p. 16).
Gorz explora o potencial da tese enunciada nessa passagem por meio da
análise de uma situação concreta de alienação: sua própria história de vida.
Portanto, embora o trecho a seguir pareça referir-se a um caso hipotético,
escrito na terceira pessoa do singular, ele trata na verdade de um caso con-
creto, sua biografia. Vejamos:
Ao homem confinado num mundo estranho e hostil, colocam-se três possibilida-
des: trabalhar no sentido de sua evasão; resignar-se à sua sorte e se evadir em so-
nhos; tentar adaptar-se à ordem que o mantém como prisioneiro, conformando-se
às suas exigências ainda que ao preço de uma desadaptação de si mesmo (Gorz,
1958, pp. 171-172).
Os “três planos de fuga axiológicos” aparecem neste último trecho de forma
clara como as três possibilidades que se colocam ao indivíduo numa situa-
junho 2009 37
Vol21n1-d.pmd 37 7/7/2009, 17:11
Tensão entre tempo social e tempo individual, pp. 35-50
ção adversa, “num mundo estranho e hostil”. Pela forma impessoal, genéri-
ca, de apresentação do problema no último texto, a situação adversa a que
ele se refere pode ser tanto a de um prisioneiro confinado em uma cela
como, num sentido mais amplo, a de um indivíduo em um contexto social
alienante; e o mundo hostil pode ser uma prisão ou mesmo uma determi-
nada sociedade.
Numa perspectiva bem sartriana, segundo a qual o homem está conde-
1.“Nous sommes con- nado a ser livre1, Gorz afirma que as atitudes do indivíduo não podem ser
damnés à être libres“ compreendidas a partir de circunstâncias objetivas. Assim, qualquer que
(Sartre, 1983, p. 447).
seja o mundo hostil, uma prisão ou uma determinada sociedade, a atitude
ou o plano de fuga adotado depende da escolha do indivíduo. E para saber
se elas têm ou não o mesmo valor, ele analisa as determinações subjetivas
que fundamentam cada uma das três possíveis atitudes, sem, no entanto,
perder de vista se a situação do indivíduo decorre de uma escolha desafor-
tunada ou de uma alienação objetiva. Portanto, ele privilegia a interpreta-
ção subjetiva, afirmando que somente uma hierarquização dos fins ideais
da realidade humana e do significado fundamental do projeto original é
capaz de fornecer os fundamentos de uma teoria da alienação e de uma
moral voltada para a libertação:
Estamos convencidos de que a condição empírica do para si pode incliná-lo tanto
para uma atitude fundamental como para outras. Mas é precisamente por isto que
nos importa compreender e apreciar antes de tudo os diversos tipos de atitude na
sua intenção original e no seu fim ideal (Gorz, 1977a, p. 124).
Daí a necessidade de relacionar as diferentes dimensões do para si com o
problema axiológico, estabelecendo com isso uma hierarquia entre as três
atitudes que lhe possibilitam resolver o problema que se coloca ao “homem
confinado num mundo alienado e hostil”: fuga, fuga em sonhos e adapta-
ção. Em suas palavras:
Eu atribuí à primeira (esforço de libertação) um significado moral; à segunda (cria-
ção de um mundo imaginário para habitar, em substituição ao inabitável mundo
real), uma significação estética; à terceira (conduta de heteronomia conformista),
uma significação vital. Ora, como essas três possibilidades são os três sentidos obje-
tivos da situação do confinado, é muito provável que ele descubra cada uma delas,
um dia ou outro, como uma tentação. Se a palavra alienação tem um significado,
este homem alienado não poderá viver nem na terceira nem na segunda atitude
38 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 38 7/7/2009, 17:11
Josué Pereira da Silva
sem padecer, surdamente pelo menos, de sua contradição e de sua inautenticidade,
sem ser tentado, portanto, a ultrapassá-las em direção à primeira (se ele conseguirá
ou não, é outra questão) (Gorz, 1958, p. 172).
Com base na suposição de que só se pode compreender a ideia de região
existencial a partir de um ponto de vista ético, Gorz indaga-se a respeito de
como um indivíduo que parte de uma pluralidade de valores pode organi-
zar hierarquicamente os componentes empíricos dessas dimensões existen-
ciais, dando-lhes um significado fundamental sem ser arbitrário.
Para ele, apenas uma ontologia pode dar uma resposta satisfatória a essa
indagação. A esse propósito, ele considera que a descrição sartriana da
temporalidade oferece implicitamente um ponto de partida para a respos-
ta. Uma ontologia pode ensinar, afirma Gorz, que as três dimensões da
negação original se relacionam de tal forma que um projeto que, por exem-
plo, escolha o passado como a dimensão temporal privilegiada faz tal esco-
lha sempre tendo o futuro como referência, embora nele o futuro não te-
nha a mesma importância que o passado.
Em sua descrição da relação do para si com as três dimensões temporais,
Gorz considera o passado como a primeira dimensão da negação. A escolha
do passado, afirma ele, implica conceber a existência como facticidade; a
valorização desta última, entretanto, não significa garantia de que a situa-
ção original será vivida, mas também não significa uma renúncia da vida
ideal. Já a opção pelo presente – segunda dimensão da negação – significa,
segundo Gorz, escolher o viver imediato como secundário (não essencial) e
transitório em relação a um fim. Mas, diferentemente da escolha do passa-
do, que significa coincidência com o mundo empírico, a valorização do
presente como absoluto significa uma recusa do mesmo. Por isso, a escolha
do presente é vista como fundamento das atitudes estéticas; e o projeto
estético é uma rebelião contra a contingência.
O futuro é, por sua vez, a terceira e a mais forte dimensão da negação; na
visão de Gorz, ela é também a única dimensão temporal que possibilita a
conversão moral; e, por estar implicado no passado e no presente, o futuro
é a dimensão que dá sentido às outras duas. Assim, as três dimensões de
valorização que fundamentam as atitudes vital, estética e moral derivam
dessas três dimensões temporais da negação.
A atitude vital e a atitude estética relacionam-se respectivamente com a
vida alienada e a tentativa de vencer a alienação por meio da construção de
um mundo imaginário, de sonho e fantasia. A primeira significa uma adap-
junho 2009 39
Vol21n1-d.pmd 39 7/7/2009, 17:11
Tensão entre tempo social e tempo individual, pp. 35-50
tação à realidade existente, porque o indivíduo que escolhe a atitude vital é
prisioneiro das contingências da natureza, das circunstâncias do mundo
externo e do passado; por isso, ele vive uma vida alienada, na qual a ordem
do mundo aparece-lhe como algo imutável. As atitudes estéticas podem ser,
segundo Gorz, de dois tipos: ativa e contemplativa. Ele identifica a atitude
estética ativa com a contestação absoluta, típica do aventureiro, e a con-
templativa com a tentativa de fazer com que a existência coincida com a
essência; para ele, enquanto a primeira leva ao ativismo, a contemplativa
leva ao estoicismo.
Na formulação de Gorz, nem a atitude vital nem a estética consegue
valorizar todas as três dimensões temporais (passado, presente e futuro) ao
mesmo tempo. A valorização simultânea das três só se torna possível pela
conversão moral, na qual o objetivo ideal, situado no futuro, atribui signi-
ficado a todas as dimensões do para si, por meio da totalização. Do ponto
de vista do indivíduo, haveria, portanto, uma progressão no plano da cons-
ciência, que vai da atitude vital, passando pela estética, até a atitude moral,
que significa a escolha da liberdade: “Os valores morais de liberdade são
mais elevados que os valores estéticos, e os valores estéticos mais elevados
que os valores vitais” (Gorz, 1977a, p. 504).
Para ele, no entanto, só há uma coisa esclarecida até este momento: o
esforço de moralização pressupõe a escolha do em si como existência. A
escolha da liberdade implica revelar a liberdade onde ela existe. Mas a aná-
lise psicológica até então empreendida, que é capaz de fornecer os meios
para uma interpretação subjetiva do nível de consciência, não é, porém,
suficiente para uma investigação das condições objetivas. Para isso é preciso
2.Numa espécie de uma análise histórica2.
guinada sociológica, Sem ela, ficamos com uma lacuna entre a situação original e a situa-
seus escritos subse-
ção empírica. E é esse divórcio entre mundo subjetivo e mundo objetivo,
quentes mostram cla-
ramente a preocupação entre o imediato e a mediação, que ele define como alienação. Tal aliena-
com a análise das cha- ção, afirma Gorz, só pode ser combatida de forma eficiente por meio de
madas condições obje- um projeto construído como totalização, isto é, um projeto capaz de arti-
tivas (cf. Silva, 2002). cular o imediato com a situação empírica global3. Portanto, é por meio
3. Não se pode esquecer do projeto que o indivíduo procura alcançar seus objetivos, que por sua
que de maneira geral na vez podem estar voltados para valores vitais (passado), estéticos (presen-
ideia de projeto, tam- te) ou morais (futuro).
bém tributária da filoso-
Nas duas próximas sessões, ambas voltadas mais para as condições obje-
fia de Sartre, está embu-
tida a noção de futuro. tivas, discuto suas duas outras abordagens do tempo, que se referem ao
envelhecimento (III) e ao tempo de trabalho (IV).
40 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 40 7/7/2009, 17:11
Josué Pereira da Silva
III
As reflexões de Gorz sobre o envelhecimento aparecem no contexto de
uma discussão a respeito da imortalidade já em seu livro Fondements pour
une morale, em que ele afirma que “ser mortal é não somente ter diante de
si apenas um futuro limitado, é ainda envelhecer” (Gorz, 1977a, p. 532). As
duas páginas desse livro que tratam do envelhecimento já contêm os prin-
cipais elementos de sua concepção sobre o tema, como, por exemplo, a
importância da mediação de outros no próprio entendimento do que vem
a ser envelhecimento, o que indica sua dimensão social: “envelhecer é ser
julgado por outrem sobre sua idade” (Gorz, 1977a, p. 532). Ou seja, ter
uma vida temporalmente limitada significa a impossibilidade de se reco-
meçar indefinidamente, de construir novos projetos; significa que a partir
de certo momento da vida as possibilidades de recomeço se estreitam para o
indivíduo. Por isso, envelhecer é a impossibilidade de escolher, pois o velho
já foi escolhido, seu lugar na sociedade está dado.
Porém, sua análise mais completa sobre o envelhecimento está em um
texto posterior, publicado em dois números subsequentes da revista Les
Temps Modernes, em dezembro de 1961 e janeiro de 1962, e que é dedicado
especificamente a esse tema4. Gorz inicia esse texto descrevendo, na terceira 4.O texto de sua au-
pessoa do singular, como é seu estilo, sua percepção do próprio envelheci- toria sobre envelheci-
mento publicado no
mento durante uma visita a Nova York:
presente dossiê é uma
versão condensada dos
Ele desceu na estação Franklin Roosevelt e viu um painel cruzado sobre a platafor- dois textos menciona-
ma com a frase “Rejuvenesça seus rins”. Quando, quatrocentos metros adiante, dos publicados em Les
chegou ao prédio de “A Flecha”, o painel já havia triunfado: ele se deu conta de sua Temps Modernes.
idade. Ele tinha 36 anos (Gorz, 1961, p. 638).
Nas páginas seguintes do mesmo texto, Gorz procura deixar claro como o
conhecimento da idade, a consciência de que começara a envelhecer, foi
para ele uma experiência desagradável; a descoberta da idade fazia-o lem-
brar de pequenos eventos e pensamentos aos quais não havia prestado
atenção. A consciência de que já tinha uma idade, de que estava envelhe-
cendo, era a descoberta de uma condição que até então parecia ausente de
sua vida:
Durante os anos mais importantes de sua vida [...] ele não teve idade nenhuma;
recomeçava sem cessar, e os anos não contavam: ele não tinha mais idade aos 23
junho 2009 41
Vol21n1-d.pmd 41 7/7/2009, 17:11
Tensão entre tempo social e tempo individual, pp. 35-50
que aos 22, e não era a passagem aos 24 ou mesmo aos 25 que o faria ter. Agora isso
mudou: 36 já é uma idade, 37 mais ainda (Gorz, 1961, p. 638).
A diferença estava no fato de que aos 36, 37 anos de idade, o passado tinha
preestabelecido o futuro de uma forma que o indivíduo já não tem mais a mes-
ma possibilidade de recomeçar sempre que lhe convier como ocorria aos 22
ou 25 anos de idade. A percepção da idade ou do envelhecimento vincula-se
assim à redução da liberdade de escolha, limitando as possibilidades de novo
começo; e, por isso, o envelhecimento é uma condição bastante objetiva.
Portanto, a descoberta da idade, do envelhecimento, não é um fenôme-
no apenas subjetivo; ele é acima de tudo social: “a idade de um homem é
social ” (Gorz, 1961, p. 639). Claro que há também um envelhecimento
orgânico, biológico, da mesma forma que há um envelhecimento psicoló-
gico, cujas manifestações podem variar de um indivíduo para outro. E a
percepção subjetiva da idade é, sem dúvida, importante. Mas, apesar da
importância desta última, aos 36 anos de idade não há, na perspectiva de
Gorz, como evitar a dimensão social do envelhecimento; ou seja, aos 36
anos a medida do envelhecimento é dada pela sociedade.
Além do envelhecimento orgânico propriamente, Gorz distingue duas
outras idades: uma psicológica e outra social. Embora pareça ter sido a per-
cepção – psicológica – de que tinha uma idade que o alertou para o proble-
ma do envelhecimento, sua análise subsequente concentra-se na dimensão
social do envelhecimento. Da perspectiva da sociedade, portanto, há um
momento no qual as escolhas feitas antes por um indivíduo, tenham sido elas
bem ou malsucedidas, já marcaram profundamente sua biografia. Ou seja, a
certa altura da vida, quiçá aos 35 anos de idade, o indivíduo envelhece por-
que não lhe é permitido recomeçar; porque seu passado já prefigurou seu
futuro. Ainda que ele queira recomeçar, restrições sociais, que lhe escapam
ao controle, tornam difícil o recomeço, limitam seu campo de ação:
Até os 30 anos, a rigor, a gente acumula um pouco ao acaso; passados 30 anos, é
preciso que a acumulação renda: é o período no qual o indivíduo social é reputado
a alcançar a maturidade; passados 35 anos, é preciso que ele amortize a dívida
(Gorz, 1961, p. 639).
Mas, em sua discussão sobre envelhecimento, Gorz não se limita a falar
em velhice, a qual define como “o destino imposto pelos jovens aos velhos”
(Gorz, 1961, pp. 647-648). Ele também fala de outras fases da vida, como
42 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 42 7/7/2009, 17:11
Josué Pereira da Silva
infância, adolescência e juventude, que, embora as discuta recorrendo a
exemplos autobiográficos, são todas definidas socialmente, sua definição
vem sempre de outrem. Dessas três, a infância e a adolescência são concebi-
das como um estado provisório: a primeira é definida pela expectativa futu-
ra de tornar-se grande, de crescer, que também significa tornar-se outro5; a 5.Ao falar da infância
adolescência, por sua vez, é definida quase como uma lacuna, uma ausên- como uma expectativa
de crescer, de tornar-
cia, caracterizada pela defasagem entre as possibilidades orgânicas e o esta-
se outro, Gorz recorre
tuto social que a condena a uma existência vazia. como de hábito à sua
No entanto, diferentemente dessas duas, que são definidas negativamen- experiência pessoal,
te como uma ausência ou como um constante devir, a juventude é, ao con- ressaltando a ausência
trário, definida de forma positiva. Embora os jovens sejam por vezes vistos de autonomia em sua
como vivendo uma condição indeterminada – “o destino a que os velhos os infância sempre em co-
nexão com o mundo
submetem” (Gorz, 1961, p. 647) –, a juventude é aquele momento da vida
heterônomo represen-
no qual tudo é possível, tudo é válido. O futuro a ela pertence. tado por sua mãe (cf.
A maturidade ou velhice, ao contrário, é vivenciada como a experiência Gorz, 1958, 1961,
de que não se tem mais todo o futuro e todo o tempo à disposição; isso 1962).
porque a maturidade, ou a velhice, é também o momento no qual o indiví-
duo já “está socializado, integrado por sua profissão [...] do único modo
pelo qual essa sociedade pode integrar um homem: transformando-o num
Outro que [...] extrai de sua própria alteridade os direitos e poderes” (Gorz,
1961, p. 660). Assim, seja do ponto de vista subjetivo, pela aquisição de
senso de realidade, seja do ponto de vista objetivo, em razão de constrangi-
mentos sociais, o envelhecimento parece implicar a aceitação da realidade
objetiva, da facticidade na linguagem de Gorz.
IV
A terceira abordagem de Gorz a respeito do tempo refere-se à discussão
da relação entre tempo de trabalho e tempo livre, ou mais precisamente ao
problema da redução do tempo de trabalho como estratégia de política so-
cial. Embora a preocupação com o tema apareça já em seus escritos da década
de 1960, a exemplo dos livros Stratégie ouvrière et néocapitalisme, de 1964, e
Le socialisme difficile, de 1967, nessa época sua análise do tempo de trabalho
estava subordinada à discussão sobre reprodução da força de trabalho, como
sói acontecer na tradição do marxismo. A partir do final da década de 1970,
no entanto, a questão da redução do tempo de trabalho passa a ocupar um
lugar central em sua análise da sociedade contemporânea, funcionando
como uma espécie de catalisador de suas propostas de política social.
junho 2009 43
Vol21n1-d.pmd 43 7/7/2009, 17:11
Tensão entre tempo social e tempo individual, pp. 35-50
Os escritos de Gorz da década de 1970 sinalizam também uma “virada
ecológica” em suas formulações teóricas e em sua análise da sociedade con-
temporânea; dessa forma, sua discussão a respeito da redução do tempo de
trabalho vincula-se intimamente à preocupação com as consequências do
6. É também nesse con- crescimento econômico sobre o ambiente natural6. As palavras iniciais de
texto que emerge a fi- seu livro Écologie et liberté, de 1977, são a esse respeito bastante reveladoras:
gura de Ivan Illich
como uma importante
O capitalismo de crescimento está morto. O socialismo de crescimento que a ele se
fonte de inspiração
para Gorz, conforme parece como um irmão reflete para nós a imagem deformada não de nosso futuro,
ele mesmo sugere em mas de nosso passado. O marxismo, ainda que permaneça insubstituível como
seu livro Lettre à D. instrumento de análise, perdeu seu valor profético (Gorz, 1977b, p. 11).
Histoire d’un amour, de
2006. Mas a preocupa-
Para Gorz, a crise do chamado capitalismo de crescimento é causada
ção de Gorz com ecolo-
gia é mais antiga, como pelo superdesenvolvimento das capacidades de produção e de destruição,
se pode ver em seu livro decorrentes da própria racionalidade econômica. O desenvolvimento da
Critique du capitalisme capacidade produtiva implica aumento da produtividade do trabalho que,
quotidien, de 1973. no entanto, não se traduz em redução do tempo de trabalho, mas sim em
7.Gorz afirma que, nas desemprego7. Com isso, o elo entre “mais” e “melhor” foi rompido, justi-
sociedades ricas, o de- ficando a busca de uma alternativa como a que está expressa na frase
semprego “reflete a di-
“pode-se viver melhor trabalhando e consumindo menos” (Gorz, 1977b,
minuição do tempo de
p. 92).
trabalho socialmente
necessário”, indicando Daí a redução do tempo de trabalho aparecer em suas formulações a par-
“que todos podem tra- tir do final da década de 1970 como uma possível solução tanto para o pro-
balhar menos com a blema do desemprego como para melhorar a qualidade de vida das pessoas.
condição de que todos No primeiro caso, a redução do tempo de trabalho poderia contribuir para
trabalhem” (Gorz,
reduzir o desemprego, pois por meio dela seria possível colocar em prática
1977b, p. 94).
uma política de redistribuição dos empregos existentes, com duração redu-
zida para todos; no segundo caso, a jornada de trabalho mais curta, decor-
rente da redução do tempo de trabalho, deixaria aos indivíduos uma mar-
gem maior de tempo livre para que pudessem exercer outras atividades de
sua própria escolha. Assim, “a redução do tempo de trabalho poderá cami-
nhar paralelamente à expansão das atividades autônomas e livres” (Gorz,
1977b, p. 94).
Em seus três livros subsequentes – Adieu au prolétariat, Les chemins du
paradis e Métamorphoses du travail, publicados respectivamente em 1980,
1983 e 1988, Gorz desenvolveu seus argumentos sobre a problemática do
tempo de trabalho, tentando mostrar que uma política de redução progra-
mada do tempo de trabalho seria a única via possível para uma saída positi-
44 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 44 7/7/2009, 17:11
Josué Pereira da Silva
va – de esquerda – da crise de desemprego que afetava principalmente os
países capitalistas da Europa, sobretudo durante a década de 1980. No cerne
de sua argumentação está a tese de que o crescimento da produtividade do
trabalho decorrente da “revolução microeletrônica” não mais permitia um
retorno às políticas de pleno emprego de tipo keynesiano, como ocorreu
nas três décadas seguintes à Segunda Guerra Mundial. Essa revolução mi-
croeletrônica, segundo a definição de Gorz,
[...] deve ser compreendida num duplo sentido: a) a quantidade de trabalho neces-
sário decresce rapidamente até se tornar marginal na maior parte das produções
materiais e das atividades de serviço; b) o trabalho não implica mais um face a face
do trabalhador com a matéria. A transformação desta última não resulta mais de
uma atividade imediata e soberana (Gorz, 1983, p. 73).
Por isso, em sua concepção, a solução para a crise não deveria ser buscada
no retorno às políticas de pleno emprego, que, para ele, seriam tanto inefi-
cazes no plano do desemprego como indesejáveis no que se refere aos efei-
tos sobre o ambiente natural; a solução deveria, ao contrário, ser buscada
numa redução programada do tempo de trabalho que permitisse distribuir
para toda a população as conquistas do progresso técnico e do aumento da
produtividade do trabalho dele decorrente8. 8.Para uma análise de-
Diante de tais circunstâncias, então, a luta por autonomia, que antes se talhada da proposta de
Gorz a respeito de uma
buscava na própria esfera do trabalho, devia deslocar seu foco para a esfera
política de redução do
do tempo livre, fazendo com que a ideia de emancipação deixasse de ser
tempo de trabalho, ver
emancipação no trabalho e passasse a ser emancipação do trabalho. Nessa Silva, 2002, pp. 185-
perspectiva, até mesmo a luta contra o trabalho alienado, tema que marcou 195; e para uma dis-
seus escritos da década de 1960, ganharia nova forma; afinal, conforme ele cussão sobre a redução
escreveu certa vez, “o mesmo trabalho que [...] é corveia quando realizado da jornada, inclusive
na história da industri-
cotidianamente e em tempo integral, torna-se um tempo vazio entre outros
alização no Brasil, ver
quando, repartido para a população inteira, é realizado em apenas quinze Silva, 1996.
minutos por dia” (Gorz, 1980, p. 146).
Mas em seus escritos publicados entre os anos de 1977 e 1996, a discus-
são a respeito do tempo de trabalho, mesmo que implicasse uma crítica aos
defensores de políticas de tipo keynesiano voltadas para o crescimento eco-
nômico, mantinha um forte vínculo com o trabalho como integrador so-
cial. Assim, quando propunha uma renda social como forma de financiar a
redução do tempo de trabalho, ele deixava muito claro que tal renda devia
manter o vínculo com algum tipo de trabalho social, ainda que sua duração
junho 2009 45
Vol21n1-d.pmd 45 7/7/2009, 17:11
Tensão entre tempo social e tempo individual, pp. 35-50
fosse residual; o rompimento do vínculo era, portanto, apenas com o tem-
po de trabalho (cf. Gorz, 1994; Silva, 2002).
Em dois de seus últimos livros, Misères du présent, richesse du possible, de
1997, e principalmente L’immatériel, de 2003, o tema do tempo de traba-
lho ganha uma nova inflexão, sobretudo no se refere à sua relação com a
teoria do valor trabalho. Em momentos anteriores, a defesa da redução do
tempo de trabalho e da renda social tinha como fundamento a crescente
produtividade do trabalho humano decorrente do emprego de tecnologia
microeletrônica nas atividades de produção e de serviços, tecnologia essa
que, ao aumentar brutalmente a composição orgânica do capital, substi-
tuindo o trabalho vivo por trabalho morto, colocava em xeque a teoria do
valor trabalho. Nesses dois livros mencionados, ele radicaliza sua posição,
propondo uma quebra total do vínculo entre trabalho e renda, argumen-
tando que com a emergência do imaterial as atividades socialmente produ-
tivas se espalham para o conjunto da sociedade, tornando-se cada vez mais
difícil identificar quem produz ou não, já que toda interação social acaba
contribuindo de alguma maneira para a produção social. Em tal situação
não haveria, portanto, razão para se manter o vínculo entre trabalho e ren-
da, como ele acreditava antes, pois praticamente todo e qualquer tempo,
social e dos indivíduos, acaba por ser tempo produtivo.
Conforme anunciei no início deste artigo, meu objetivo era discutir a
tensão entre tempo social e tempo do indivíduo na teoria de Gorz por con-
siderar que sua abordagem a respeito do tempo é uma chave importante
para se compreender sua concepção da relação entre indivíduo e sociedade;
para tanto, iniciei discutindo sua noção de autonomia.
Na abordagem sobre a axiologia de valores, ele discute a atitude que o
indivíduo deve assumir diante de uma situação adversa. A ação ou inação
do indivíduo diante de uma situação adversa, que pode ser uma prisão ou
determinada sociedade, é avaliada a partir de uma escala de valores cons-
truída hierarquicamente em termos das dimensões temporais do passado,
do presente e do futuro. Deve-se ressaltar que a situação enfrentada pelo
indivíduo é caracterizada sempre como adversa qualquer que seja a dimen-
são temporal que ele – condenado a ser livre – venha a escolher como refe-
rência ou fundamento de sua ação; ou seja, o contexto da ação, seja uma
prisão seja uma sociedade, é definido de antemão como heterônomo, ex-
46 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 46 7/7/2009, 17:11
Josué Pereira da Silva
terno e hostil, da mesma forma que o indivíduo também é definido de
antemão como ontologicamente propenso a buscar a autonomia.
Assim apresentados, situação e indivíduo aparecem numa relação de es-
tranhamento, cabendo ao último assumir diante da situação uma atitude
conservadora, utópica ou revolucionária, conforme a dimensão temporal
que tomará como fundamento para sua ação. Se escolher o passado, será
um conservador que se esforçará para sobreviver adaptando-se à situação
existente; se escolher o presente, ele acabará idealisticamente criando um
mundo de sonhos no qual buscará refúgio para escapar da realidade hostil.
Só se escolher o futuro, considerada a única dimensão capaz de articular as
outras duas numa totalidade, ele estará apto a construir um projeto de trans-
formação social que lhe possibilitará superar o mundo hostil e construir
um mundo mais amigável; por isso, sua atitude é considerada revolucioná-
ria. Portanto, sua autonomia só será possível se conseguir impor seu projeto
à sociedade, transformando-a.
Mas, como a discussão sobre o envelhecimento deixa claro, o mar de
possibilidades que inclui a capacidade de mudar o mundo não está aberto a
todos; pertence apenas aos jovens, àqueles que acreditam que tudo podem
porque ainda não sentiram ou não perceberam os efeitos da socialização, da
integração em uma sociedade heterônoma. Essas possibilidades não pare-
cem estar ao alcance das pessoas maduras, dos velhos, daqueles que foram
colhidos ou escolhidos, e cujas biografias já foram em grande medida escri-
tas; para estes últimos, o caminho para o eterno recomeçar estreitou-se,
limitando seu campo de ação; já foram socializados, integrados por sua
profissão. Mudar o mundo é muito difícil e demorado, e eles não têm mais
tanto tempo pela frente.
No entanto, ao analisar os escritos de Gorz sobre tempo de trabalho e 9.Isso vale tanto para
tempo livre, podemos também perceber que ele não abandonou suas ideias as abordagens vincula-
das à figura de Dur-
sobre as possibilidades de mudar o mundo, ou seja, não envelheceu; apenas
kheim (1989), como
transferiu o locus da luta por autonomia, deslocando-o da esfera do traba- para aquelas associadas
lho para a do tempo livre. ao pragmatismo, como
Por outro lado, embora em suas discussões sobre o tempo ele enfatize a de George Herbert
sempre o contexto social, sua noção de autonomia sugere sempre uma rela- Mead (1934), assim
como para algumas
ção conflituosa, para não dizer negativa, do indivíduo com o processo de
apropriações contem-
socialização. Nesse aspecto pelo menos, sua concepção a respeito da relação
porâneas das mesmas
entre indivíduo e sociedade distancia-se bastante de abordagens mais inte- (Habermas, 1987, pp.
racionistas que enfatizam a intersubjetividade no processo de socialização9. 1-111; 1990, pp. 183-
Assim, nas formulações de Gorz, a relação entre indivíduo e sociedade pare- 234; Honneth, 2003).
junho 2009 47
Vol21n1-d.pmd 47 7/7/2009, 17:11
Tensão entre tempo social e tempo individual, pp. 35-50
ce não comportar a dialética interativa sugerida pela noção de intersubjeti-
vidade; o que ela sugere mais claramente é uma espécie de dialética negativa
na qual indivíduo e sociedade parecem negar-se mutuamente, em vez de se
completarem.
Não há aqui de minha parte nenhuma intenção de pintar um quadro
harmonioso da relação entre indivíduo e sociedade, mas sim de ressaltar sua
interdependência, ou dependência mútua. Aliás, o fato de uma determina-
da teoria assumir uma perspectiva intersubjetivista não implica em absolu-
to que ela negue a possibilidade de conflito na relação entre indivíduo e
sociedade, conforme se pode ver, por exemplo, na teoria do reconhecimen-
10.Ver, por exemplo, to de Axel Honneth10. Nesse sentido, o próprio Gorz deixa entrever a pos-
Honneth, 2003; Silva, sibilidade de tal perspectiva de análise numa entrevista de 1983, quando,
2008, pp. 93-110.
ao falar da noção de liberdade, faz a seguinte afirmação: “É impossível que-
rer a própria liberdade sem reconhecer a liberdade de outros povos e querer
ser reconhecido por eles como livre, como a fonte de nossas próprias ações
e criações. Reciprocidade é sempre o reconhecimento recíproco da liberda-
de de outros, não meramente tolerância” (1989, p. 284).
Enfim, minha intenção neste artigo foi chamar a atenção para um as-
pecto da obra de Gorz que é o pressuposto, às vezes implícito, às vezes nem
tanto, de conceber indivíduo e sociedade como entidades quase antagôni-
cas. Acredito que a tensão a que me referi decorre em grande medida desse
pressuposto.
Referências Bibliográficas
DURKHEIM, Émile. (1989), As formas elementares de vida religiosa. São Paulo, Edições
Paulinas.
GORZ, André. (1958), Le Traïtre. Paris, Éditions du Seuil.
_____. (1961), “Le vieillissement”. Les Temps Modernes, 187: 638-665.
_____. (1962), “Le vieillissement II”. Les Temps Modernes, 188: 829-852.
_____. (1964), Stratégie ouvrière et néocapitalisme. Paris, Éditions du Seuil (trad. bras.:
Estratégia operária e neocapitalismo. Rio de Janeiro, Zahar, 1968).
_____. (1967), Le socialisme difficile. Paris, Éditions du Seuil (trad. bras.: O socialismo
difícil. Rio de Janeiro, Zahar, 1968).
_____. (1973), Critique du capitalisme quotidien. Paris, Éditions du Seuil.
_____. (1977a), Fondements pour une morale. Paris, Galilée.
_____. (1977b), Écologie et liberté. Paris, Galilée.
48 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 48 7/7/2009, 17:11
Josué Pereira da Silva
_____. (1980), Adieu au prolétariat. Paris, Galilée (trad. bras.: Adeus ao proletariado.
Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1982).
_____. (1983), Les chemins du paradis. Paris, Galilée.
_____. (1988), Métamorphoses du travail. Paris Galilée (trad. bras.: Metamorfoses do
trabalho. São Paulo, Annablume, 2003).
_____. (1989), “A discussion with André Gorz on alienation, freedom, utopia and
himself ”. In: _____. The Traitor. Londres, Verso.
_____. (1994), “Revenu minimum et citoyenneté”. Futuribles, 188: 61-66.
_____. (1997), Misères du présent, richesse du possible. Paris, Galilée (trad. bras.: Misé-
rias do presente, riqueza do possível. São Paulo, Annablume, 2004).
_____. (2003), L’immatériel. Paris, Galilée (trad. bras.: O imaterial. São Paulo,
Annablume, 2005).
_____. (2004), Le Traïtre (suivi de “Le vieillissement”). Paris, Galilée.
_____. (2006), Lettre à D. Histoire d’un amour. Paris, Galilée (trad. bras.: Carta a D.
História de um amor. São Paulo, Annablume/Cosac Naify, 2008).
HABERMAS, Jürgen. (1987), The Theory of Communicate Action. Boston, Beacon Press,
vol. 2.
_____. (1990), Pensamento pós-metafísico. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro.
HONNETH, Axel. (2003), Luta por reconhecimento. São Paulo, Editora 34.
MEAD, George Herbert. (1934), Self, Mind, and Society. Chicago, University of Chi-
cago Press.
SARTRE, Jean-Paul. (1956), Being and Nothingness. Nova York, Pocket Books.
_____. (1983), Cahiers pour une morale. Paris, Gallimard.
SILVA, Josué Pereira da. (1996), Três discursos, uma sentença. São Paulo, Annablume/
Fapesp.
_____. (2002), André Gorz: trabalho e política. São Paulo, Annablume/Fapesp.
_____. (2008), Trabalho, cidadania e reconhecimento. São Paulo, Annablume.
Resumo
Tensão entre tempo social e tempo individual
O artigo discute o tempo na obra de André Gorz, procurando a partir desse tema com-
preender sua concepção a respeito da relação entre indivíduo e sociedade. Para tanto,
identifica e descreve suas três abordagens sobre o tempo: a primeira procura construir
uma axiologia de valores baseada nas três dimensões temporais (passado, presente e fu-
turo); a segunda discute a relação entre tempo e envelhecimento; e a terceira trata do
tempo de trabalho. Após descrever cada uma dessas três abordagens sobre o tempo, o
artigo conclui sugerindo que há uma tensão entre tempo social e tempo do indivíduo na
junho 2009 49
Vol21n1-d.pmd 49 7/7/2009, 17:11
Tensão entre tempo social e tempo individual, pp. 35-50
teoria desse autor, tensão que decorre em boa medida de uma visão filosófica que con-
cebe indivíduo e sociedade como entidades quase antagônicas.
Palavras-chave: André Gorz; Teoria social; Tempo; Tempo de trabalho; Envelhecimento.
Abstract
The tension between social time and individual time
The article explores the theme of time in the work of André Gorz, using this motif as
a basis for understanding his conception of the relationship between individual and
society. This aim in mind, it identifies and describes his three approaches to time: the
first seeks to construct an axiology of values based on the three temporal dimensions
(past, present and future); the second examines the relationship between time and
aging; and the third deals with the time of work. After describing each of these three
approaches, the article concludes by identifying the tension between social time and
individual time in the author’s theory, a tension that largely arises from a philosophical
viewpoint that conceives individual and society as almost antagonistic entities.
Keywords: André Gorz; Social theory; Time; Time of work; Aging.
Texto recebido e apro-
vado em 9/3/2009.
Josué Pereira da Silva
é professor de Sociolo-
gia no IFCH, Uni-
camp. E-mail: josueps
@unicamp.br.
50 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 50 7/7/2009, 17:11
Estratégia operária e neocapitalismo
Iram Jácome Rodrigues
Entre as questões suscitadas por Gorz, em seu livro Estratégia operária e
neocapitalismo, há um tema que se sobressai: o local de produção como
locus privilegiado do conflito entre capital e trabalho e das consequências
organizativas propostas por este autor no que viria a ser uma nova estratégia
de setores do movimento operário e do sindicalismo para os tempos de
Welfare State.
Gorz inicia este seu trabalho contextualizando os aspectos mais gerais
da relação entre socialismo e necessidade, e analisando as mudanças nas
condições do capitalismo nos países centrais. Além disso, aponta que nesses
países a extrema pobreza representaria apenas 20% da população. Com
isto, tenta mostrar que ocorreu uma mudança fundamental naqueles países
capitalistas mais desenvolvidos e, por essa razão, seria necessário repensar a
estratégia do movimento operário e do sindicalismo nessas sociedades.
O socialismo nunca foi uma necessidade que se impusesse às massas com uma
evidência fulgurante. Da revolta primitiva à vontade consciente de modificar a
sociedade, nunca houve uma passagem imediata. O descontentamento dos tra-
balhadores, mesmo poderosamente organizados, a respeito de sua condição,
nunca foi ultrapassado espontaneamente, visando uma colocação em questão da-
Vol21n1-d.pmd 51 7/7/2009, 17:11
Estratégia operária e neocapitalismo, pp. 51-64
quilo que, na organização geral da sociedade, tornava sua condição insuportável
(Gorz, 1968, p. 9).
O autor faz, nesse estudo, uma reflexão sobre as transformações ocorri-
das no capitalismo pós-Segunda Guerra Mundial, notadamente nos anos
de 1950 e início da década de 1960, no que diz respeito ao advento das
novas condições em que se estruturava a produção capitalista.
Nesse sentido, esse movimento, que alguns convencionaram chamar de
fordismo, foi um arranjo institucional estabelecido entre atores sociais di-
versos: as grandes empresas, os grandes sindicatos de trabalhadores e o Es-
tado, com vistas a manter uma política econômica de tipo intervencionista
(keynesiana) de proteção do mercado interno, alguma redistribuição da
renda no âmbito desses países e uma atenuação, em um primeiro momen-
to, do conflito capital/trabalho, se comparado com os conflitos de classe do
século XIX até os anos de 1930.
Por isso,
[...] a recusa da sociedade perdeu, nos países capitalistas avançados, sua base natu-
ral. Enquanto a miséria – isto é, a privação do que é necessário para viver – era a
condição da maioria, a necessidade de um desabamento revolucionário da socieda-
de podia vir automaticamente. Proletários e camponeses miseráveis não tinham
necessidade, para se erguerem contra a ordem existente, de saber que outra socie-
dade pretendiam construir: o pior era o presente; não tinham nada a perder” (Idem).
Já nas condições desse novo capitalismo, mesmo subsistindo, a miséria
não afetaria mais do que 20% de seus habitantes. Além disso, “esta popula-
ção, além do mais, não é homogênea; está concentrada em certas regiões,
em certas camadas que não são representativas de sua classe: pequenos cam-
poneses de regiões [distantes], anciãos, desempregados, operários sem qua-
lificação etc. Essas camadas são incapazes de se tornarem a agrupar para
exercer uma ação decisiva sobre a sociedade e o Estado. Elas têm necessida-
des comuns, mas não um projeto referente às condições satisfatórias. Aí
está uma primeira razão pela qual a miséria não pode mais servir de funda-
mento à luta pelo socialismo” (Idem).
O que está sendo mostrado por André Gorz é que as condições tanto
sociais como políticas e econômicas se modificaram com o advento do Es-
tado de Bem-Estar Social. Assim, o sistema econômico-político-social que
emergiu após 1945, e que perdurou até inícios dos anos de 1970, em gran-
52 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 52 7/7/2009, 17:11
Iram Jácome Rodrigues
de parte da Europa Ocidental, Estados Unidos e Japão, foi responsável por
uma estabilidade que representou um incremento do bem-estar e aumento
da riqueza em todos esses países. Nesse período, além desses aspectos e das
altas taxas de crescimento econômico, a democracia e o Estado de Bem-
Estar foram consolidados. Além disso, o Estado estimulou o desenvolvi-
mento da atividade produtiva por meio de empréstimos e investimentos de
longo prazo (cf. Rodrigues, 2006, p. 205).
Esses investimentos, em cada país, coordenados pelos Estados nacionais,
embora assumissem alguns aspectos mais específicos, tinham como princi-
pal característica o processo de regulação do Estado no que tange à política
macroeconômica, ou seja, uma decisiva intervenção do Estado na econo-
mia, com o objetivo de garantir o equilíbrio no campo econômico e a paz
social no terreno político. Essas singularidades manifestavam-se em diferen-
ças no padrão dos gastos públicos, na organização do sistema de bem-estar
social e na presença maior ou menor do Estado nas decisões econômicas.
Desse modo, o conjunto de arranjos institucionais e corporativos cons-
tituiu-se na essência do que veio a ser denominado compromisso fordista e
foi o principal ponto de apoio de sua estruturação. Vale dizer, Estado, gran-
des corporações e sindicatos passaram a ser a nova base desse regime de
acumulação, cuja característica era a produção em massa de bens padroni-
zados e em série.
Nesse aspecto, o fordismo representou um aprofundamento e amplia-
ção do taylorismo na medida em que relacionou diretamente as mudanças
que estariam ocorrendo no trabalho com transformações nas condições ge-
rais de existência do trabalho assalariado. O conjunto dessas transforma-
ções, entre outros aspectos, levou à institucionalização das relações capital/
trabalho por meio de processos de negociação na empresa, nos setores eco-
nômicos e no plano nacional (cf. Aglietta, 1991).
Esse é o pano de fundo das reflexões de Gorz com relação às novas ques-
tões surgidas com o advento do Estado Social e, diante desses temas, seria im-
portante repensar a estratégia operária. Como observa Queiroz (2006, p. 65),
“a reflexão desenvolvida por Gorz nas décadas de 1950 e 1960 esteve intima-
mente vinculada a um objetivo específico: pensar as características que o ca-
pitalismo assumia e propor novas alternativas de luta à classe trabalhadora.
Para isso, o que mostra que recusava as usuais e dogmáticas concepções que
eram naquele momento predominantes na esquerda marxista, analisou as vá-
rias esferas para, daí, mostrar que modificações o capitalismo pós-guerra tra-
zia consigo. Este confronto ocorria também em relação às tradicionais formu-
junho 2009 53
Vol21n1-d.pmd 53 7/7/2009, 17:11
Estratégia operária e neocapitalismo, pp. 51-64
lações táticas e estratégicas do movimento dos trabalhadores, o qual se encon-
1. Para esta questão, ver trava ainda fortemente influenciado pela perspectiva da III Internacional”1.
também Amorim (2006). É nessa perspectiva que Gorz abordará a questão de uma nova estratégia
para o movimento operário que parte, principalmente, das “reformas não
reformistas”. Assim, “esta luta não faz depender, de critérios capitalistas de
racionalidade, a validade e o direito tradicionalmente consagrado pela ne-
cessidade” (Gorz, 1968, pp. 13-14). No entanto, Gorz assinala que para
uma mudança na direção dessa estratégia seria necessária também outra cor-
relação de forças. Os trabalhadores teriam que conquistar poderes ou afir-
mar poderes. Em outras palavras, seriam necessárias reformas de estruturas.
II
Refletindo sobre um momento histórico de grandes transformações no
capitalismo contemporâneo, o período que vai do final da Segunda Guerra
Mundial até meados dos anos de 1960, Gorz explicita a demanda de con-
trole do processo de trabalho que desempenha um papel central para seus
argumentos. Pois essa demanda “adquire uma crescente significância em
relação às lutas em torno dos salários e das horas de trabalho [...]. Enquanto
a velha estratégia estava preocupada com demandas quantitativas, as de-
mandas da nova estratégia são de natureza mais qualitativa. Ou seja, embo-
ra as demandas quantitativas ainda façam parte das principais preocupa-
ções da nova estratégia, sua importância parece diminuir à medida que o
problema do controle operário se torna o núcleo das preocupações” (Silva,
2002, p. 104).
Assim, o tema do controle operário da produção, do controle do pro-
cesso de trabalho, transforma-se para Gorz no cerne das mudanças necessá-
rias para pensar a nova estratégia operária. Nesse aspecto, no contexto dos
problemas tratados, o autor privilegia a questão do poder dos trabalhadores
no âmbito da produção, do local de trabalho como central para a nova
estratégia operária. Gorz observa que o proletariado, para que possa manter
[...] sua vocação de classe dirigente, deve primeiramente atacar a condição operária
nos locais de trabalho porque é lá que, através das alienações mais diretas do traba-
lhador, como produtor e cidadão, a sociedade capitalista pode ser indiretamente con-
testada. E também porque é unicamente através da recusa consciente das relações
opressivas de trabalho, através de uma ação consciente para submetê-las ao controle
dos trabalhadores associados, através de uma vontade ininterrupta de autodetermi-
54 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 54 7/7/2009, 17:11
Iram Jácome Rodrigues
nação independente das condições de trabalho, que a classe operária pode conservar
ou afirmar permanentemente a autonomia de sua consciência de classe, a emanci-
pação humana do trabalho como finalidade suprema” (Gorz, 1968, p. 46).
Neste caso, uma das questões subjacentes ao pensamento gorziano é
trazer o local de trabalho para o centro da política. Na verdade, a “nova
estratégia operária” vislumbrada por Gorz representa, ao mesmo tempo,
uma crítica contundente à esquerda tradicional e, em certa medida, uma
volta às raízes do movimento operário quando a questão do controle operá-
rio da produção, do trabalhador como produtor, estava em tela. Para Offe
(1989, p. 176), por exemplo, “a unidade e coerência do trabalho” expres-
sar-se-ia também no “orgulho coletivo dos produtores, uma consciência
que reflexivamente expressa a teoria do valor do trabalho e o coloca (nas
palavras da Crítica do Programa de Gotha) como ‘a fonte de toda a riqueza e
de toda a cultura’”.
O tema da organização dos trabalhadores em seus locais de trabalho está
presente desde o início do movimento operário. O que leva à organização no
interior das empresas é uma tendência generalizada por parte da mão de obra
no sentido de adquirir algum poder de controle sobre as condições de traba-
lho. De outra parte, representa, também, um aspecto da resistência do opera-
riado diante da organização capitalista do trabalho, bem como expressa o for-
te conflito entre capital e trabalho nos albores do capitalismo em decorrência,
entre outros aspectos, das condições draconianas, à época, do trabalho fabril.
Segundo Sturmthal, do ponto de vista histórico, a organização operária
no interior da empresa frequentemente precedeu o nascimento do sindica-
to como instrumento de negociação entre capital e trabalho. Ainda de acordo
com esse autor, nos anos de 1848-1849, em decorrência da revolução na
Alemanha, “uma das instituições propostas foi a formação de conselhos
operários” que tinham como principal objetivo, entre outros aspectos, a
resolução das disputas e reclamações internas, a regulamentação das rela-
ções entre capital e trabalho na empresa e a criação de organismos de bem-
estar social (cf. Sturmthal, 1971, pp. 33 e 111).
Esses aspectos podem nos ajudar a entender a recorrência às formas de
organização de base quando de conflitos entre patrões e empregados. Na
luta por seus direitos no interior do estabelecimento industrial, os trabalha-
dores procuram se organizar em seus locais de trabalho, nascendo assim a
representação trabalhista nas empresas. Vale dizer, há uma tendência visível
entre os assalariados, no bojo de grandes movimentos grevistas ou mesmo
junho 2009 55
Vol21n1-d.pmd 55 7/7/2009, 17:11
Estratégia operária e neocapitalismo, pp. 51-64
em greves isoladas, quando a questão já está disseminada na prática cotidia-
na das lutas operárias, de recorrer às organizações dos empregados nos lo-
cais de produção: chamem-se comissões de fábrica, comissões de empresa,
conselhos operários etc.
Desse ponto de vista, quando Gorz enfatiza o tema do poder operá-
rio, significa, como observa Silva, a capacidade dos trabalhadores nas em-
presas de questionar mediante o controle operário da produção “as pre-
missas [da] política de gestão da economia e das empresas capitalistas
através do controle sobre os meios e as condições de sua formulação”
(2002, p. 116).
Por isso, para que fosse possível construir essa nova estratégia seria ne-
cessário, segundo Gorz , relacionar as questões da produção, do cotidiano
operário e da fábrica com o conjunto da sociedade:
A possibilidade de reunir em uma mesma perspectiva a condição operária no seio
do processamento produtivo e no seio da sociedade, a possibilidade de fornecer
dialeticamente motivos imediatos de descontentamento por razões profundas, ine-
rentes às relações sociais e ao poder econômico e político, tal possibilidade surgiu
de maneira mais ou menos explícita durante o desenrolar de todas as ações de
massa do passado próximo. [...] Espontâneas ou demoradamente preparadas, to-
das essas ações punham em questão, de maneira explícita ou implícita, muitos
outros problemas além do nível salarial. E demonstraram, cada uma a sua maneira,
que, limitada unicamente ao aspecto salarial, a luta operária é imediatamente ab-
sorvida pela ondulação tática do patronato e do Estado; corre o perigo de atolar-se
nas reivindicações de categorias e corporativas; mesmo vitoriosas sob este aspecto,
arrisca-se a liquidar-se por uma derrota estratégica (Gorz, 1968, p. 38).
É fundamental, de acordo com Gorz,
[...] unir, na estratégia reivindicativa, a condição dos trabalhadores em seus locais
de trabalho à sua condição no seio da sociedade. [...] Essa possibilidade é dada pela
estreita conexão existente, na vida de todo trabalhador, entre as três dimensões
essenciais de sua força de trabalho: 1. As relações de trabalho: isto é, a formação, a
avaliação e a utilização da força de trabalho na empresa; 2. A finalidade do trabalho:
isto é, as finalidades (ou produções) para as quais a força de trabalho é utilizada na
sociedade; 3. A reprodução da força de trabalho: isto é, a maneira e o local de vida do
2.Ver também Silva trabalhador, a maneira pela qual pode satisfazer suas necessidades naturais, profis-
(2002, pp. 104-105). sionais, humanas (Idem, p. 39)2.
56 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 56 7/7/2009, 17:11
Iram Jácome Rodrigues
Gorz está valorizando, assim, a apreensão da realidade do mundo do
trabalho por meio do cotidiano operário no interior da empresa, no contex-
to do espaço da fábrica, a partir das formas de controle que são exercidas
sobre a força de trabalho, de um lado, e da resistência e/ou integração ao
controle capitalista pelos trabalhadores, de outro; ao mesmo tempo buscan-
do captar o movimento da classe, suas formas de organização, tanto formais
quanto informais, e observando como realmente se dá o conflito no interior
da empresa. Em outras palavras, como os trabalhadores enfrentam as condi-
ções vivenciadas dentro da fábrica, como se dá a sua experiência no local de
produção, bem como as estratégias que podem ser utilizadas pelo operaria-
do na relação com o patronato.
No entanto, ao mesmo em que tempo que o estudo da vivência na fábri-
ca é fundamental para compreendermos a classe operária em seu movimen-
to, é importante ver também a relação dessa classe com outras classes, ou
seja, a sua relação com a sociedade, fora dos muros das fábricas.
Vale dizer, para apreendermos o cotidiano operário é necessário vê-lo
tanto dentro como fora da fábrica. Thompson, analisando a formação da
classe operária inglesa, diz que
[...] as pressões em favor da disciplina e da ordem partiram das fábricas, por um
lado, e das escolas dominicais, por outro, estendendo-se a todos os demais aspectos
da vida: o lazer, as relações pessoais, a conversação e a conduta. Juntamente com os
instrumentos disciplinares das fábricas, das igrejas, das escolas, dos magistrados e
dos militares, havia outros meios semioficiais para se impor um comportamento
moralizado e disciplinado” (Thompson, 1987, p. 292).
O cotidiano operário é permeado principalmente pela vida na fábrica,
em seu local de trabalho. Para grande parte do operariado, o não trabalho,
por exemplo, não representa necessariamente o momento do lazer. Esse
tempo livre é utilizado principalmente para reorganizar as forças físicas para
enfrentar o novo dia de trabalho. O tempo do não trabalho é o mesmo
dedicado ao descanso físico. “A vida cotidiana é, em grande medida, hete-
rogênea; e isso sob vários aspectos, sobretudo no que se refere ao conteúdo
e à significação ou importância de nossos tipos de atividade. São partes
orgânicas da vida cotidiana: a organização do trabalho e da vida privada, os
lazeres e o descanso” (Heller, 1972, p. 18). Ainda, segundo a autora, na
época pré-histórica, “o trabalho ocupou um lugar dominante nessa hierar-
quia; e, para determinadas classes trabalhadoras (para os servos, por exem-
junho 2009 57
Vol21n1-d.pmd 57 7/7/2009, 17:11
Estratégia operária e neocapitalismo, pp. 51-64
plo), essa hierarquia se manteve, ainda, durante muito tempo; toda a vida
cotidiana se constituía em torno da organização do trabalho. À qual se
subordinavam todas as demais formas de atividade” (Idem).
O operário fabril de nossos dias, assim como o servo exemplificado por
Heller, também vive seu cotidiano profundamente absorvido “pela organi-
zação do trabalho”, à qual todas as outras atividades estão subordinadas.
A contradição entre tempo livre e trabalho, a oposição entre trabalho e
vida foi criada com o advento do capitalismo, mais precisamente com a in-
dustrialização. A noção do tempo é completamente modificada com o sur-
gimento da sociedade capitalista. Segundo Thompson, as sociedades indus-
triais distinguem-se como tais em função da maneira como administram o
tempo e pela divisão entre trabalho e vida (cf. Thompson, 1979, p. 288).
Referindo-se ainda à questão do tempo, esse autor afirma:
[...] os patrões ensinaram à primeira geração de operários industriais a importância
do tempo; a segunda geração formou comitês de jornada curta no movimento
pelas dez horas; a terceira fez greves para conseguir horas extras e jornada e meia.
Aceitaram as categorias de seus patrões e aprenderam muito bem a lição de que o
tempo é ouro” (Idem, pp. 279-280).
Esse processo, no entanto, não se deu sem resistências da classe operária
que estava se formando:
[...] a este novo ritmo imposto à vida ordenado pelos patrões, senhores dos relógios
[...], o escravo da fábrica reagia nas horas de folga, vivendo na caótica irregularida-
de que caracterizava os cortiços encharcados de gim dos bairros pobres do início da
Era Industrial do século XIX. Os homens se refugiavam no mundo sem hora
marcada da bebida ou do culto metodista. Mais aos poucos, a ideia de regularidade
espalhou-se, chegando aos operários” (Woodcock, 1998, p. 125).
De certa forma, o itinerário gorziano de volta às origens do movimento ope-
rário – na década de 1960 – está permeado pelas questões acima sublinhadas.
Não existe uma crise do movimento operário, mas há uma crise da teoria do movi-
mento operário. Esta crise (no sentido de reexame, crítica, ampliação do pensamen-
to estratégico) é devida, principalmente, ao fato de que a reivindicação econômica
imediata não mais basta para expressar e concretizar o antagonismo radical da classe
operária diante do capitalismo; e de que esta luta, por mais árdua que seja, não é
58 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 58 7/7/2009, 17:11
Iram Jácome Rodrigues
mais suficiente para colocar a sociedade capitalista em crise nem afirmar a autono-
mia da classe operária frente à sociedade na qual se insere” (Gorz, 1968, p. 28).
Para o autor, naquele momento a questão central era a ruptura com o
sistema capitalista.
Ao longo do século XX, nos países centrais, a atividade do movimento
operário e do sindicalismo guardou estreita relação com o desenvolvimen-
to do capitalismo. As estratégias dos atores do mundo do trabalho estive-
ram associadas às ações levadas adiante pelo capital, em cada situação con-
creta. Nos primeiros tempos um embate duro, de classes. De um lado, os
setores que buscavam sua inclusão na sociedade da época e, de outro,
aqueles que desejavam manter os privilégios, o status quo. Mesmo com
diferenças nacionais esse processo, de certa forma, ocorreu até o final dos
anos de 1930 e 1940; um segundo momento, em linhas gerais, estendeu-
se do final da Segunda Guerra Mundial até início dos anos de 1970. É o
período de construção do Estado de Bem-Estar Social, que expressava
uma aliança “tácita” entre três setores importantes: as grandes empresas, o
governo e as centrais sindicais e/ou grandes sindicatos de trabalhadores.
Nesse caso, houve uma ampliação dos direitos sociais, da cidadania, e a
real inclusão das classes trabalhadoras na sociedade como um todo, em
particular na sociedade de consumo. É o período em que grande parte dos
países europeus acompanha a chegada ao poder dos partidos socialdemo-
cratas que possuíam, à época, ampla base de apoio junto ao operariado.
Os anos de 1970, no entanto, desestruturam parte do arcabouço ante-
rior do contrato social e mudaram a configuração na qual os atores sociais
atuavam. Essas transformações resultaram no aparecimento de novas for-
mas de organização da produção nas empresas e mudanças substanciais na
composição das classes trabalhadoras, e trouxeram impactos relevantes para
as relações de trabalho: os sindicatos perderam, em termos relativos e abso-
lutos, um número significativo de aderentes e, de outra parte, houve uma
acentuada diminuição do conflito industrial nos países capitalistas centrais.
O mundo do trabalho está vivendo uma profunda transformação nestes
últimos quarenta anos. É possível que estejamos assistindo a uma mutação
tão significativa quanto aquela que foi palco o século XIX, com os impac-
tos trazidos pela Revolução Industrial (cf. Munck, 2002; Waterman, 1999;
Castells, 2000). E, por essa razão, as questões presentes na ação do movi-
mento operário e do sindicalismo, atualmente, são distintas dos temas que
se apresentavam para a ação do trabalho organizado no pós-guerra.
junho 2009 59
Vol21n1-d.pmd 59 7/7/2009, 17:11
Estratégia operária e neocapitalismo, pp. 51-64
III
Uma primeira meta das alternativas políticas a ser liberada será destruir o muro
que separa o produtor de seu produto e leva o trabalhador, como consumidor
mistificado, à contradição consigo mesmo, como produtor alienado. As reivindi-
cações imediatas dos trabalhadores referentes aos salários, horários, ritmos e quali-
ficações, oferecem aos sindicatos, e sobretudo às seções de empresa dos partidos da
classe operária, ocasião de indagar sobre o problema da utilidade social e individual
de produções às quais o trabalho está vinculado (Gorz, 1968, p. 81).
Esta passagem de Gorz, de certa forma, resume o espírito de seu livro.
Uma crítica contundente à sociedade capitalista e uma tentativa de cons-
truir uma alternativa a esta. Projeto que passaria por “alcançar a constitui-
ção de um poder operário no nível das empresas, dos ramos e, finalmente,
da própria economia nacional” (Idem). Neste caso, as premissas presentes
em seu trabalho são aquelas que dão conta do fetichismo da mercadoria, do
estranhamento, da alienação como analisados na obra de Marx.
Naquele momento, diante das novas configurações do capitalismo que
Gorz chama de neocapitalismo, expressão do arranjo sociopolítico-eco-
nômico que desembocou, de um lado, no Estado Social e, de outro, em
um corporativismo societário (cf. Schmitter, 1992), particularmente na
Europa Ocidental, André Gorz constrói uma saída para as classes traba-
lhadoras que tem como pressuposto a emancipação pelo trabalho, a par-
tir do local de produção, com vistas a alcançar uma sociedade em que não
mais existisse a exploração do homem pelo homem. Qualquer proposta
que não levasse em conta a autogestão da produção pelos próprios traba-
lhadores não teria como resolver o problema da alienação no capitalismo.
Nesse período, Gorz “considera o problema do controle operário dos pro-
cessos de trabalho como um ponto de partida necessário para uma estra-
tégia revolucionária preocupada com o problema da alienação do traba-
lho” (Silva, 2002, p. 115). Isso porque, ainda que a questão da alienação
não estivesse limitada ao local de produção, “é nele que residem suas raízes
mais profundas” (Idem).
A proposta apresentada por Gorz em Estratégia operária e neocapitalismo,
de reformas revolucionárias ou reformas de estruturas, é uma construção
analítica que pressupõe a empresa como o centro do embate entre capital e
trabalho e como base da sociabilidade e identidade operárias. A luta por
essas reformas
60 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 60 7/7/2009, 17:11
Iram Jácome Rodrigues
[...] deve aparecer, em todos os níveis, como uma possibilidade concreta e positiva,
realizável sob a pressão das massas: no nível da oficina, pela conquista de um poder
operário sobre a organização e relações de trabalho, no nível da empresa, pela con-
quista de um contrapoder operário concernente à taxa de lucro, o volume e a orien-
tação dos investimentos, a evolução e o nível tecnológico” (Gorz, 1968, p. 68).
Essa visão estava baseada na ideia do trabalho e do mundo do trabalho
como categoria explicativa fundamental para as sociedades contemporâ-
neas. É, no entanto, esse arcabouço mais geral, no qual estava baseada a teo-
ria e que tinha o trabalho assalariado e suas contradições como tema central
para a compreensão do mundo em que vivemos, que nos dias atuais se tor-
nou sociologicamente problemático e que, de certa forma, foi colocado em
xeque pelas transformações ocorridas nos últimos decênios (cf. Offe, 1989).
É verdade que o sindicalismo, mesmo vivendo mundialmente uma si-
tuação defensiva, bem diferente daquela que era a norma até meados dos
anos de 1970, no nível da empresa, dadas certas condições, discute/negocia
o tema da participação nos lucros e nos resultados, nas orientações dos
investimentos, em alguns casos, notadamente no âmbito da cidade ou da
região onde o sindicato está estabelecido, bem como o tema da tecnologia.
No entanto, no horizonte do movimento operário ou do sindicalismo –
atualmente – o móvel de sua luta é menos a busca pelo controle da produ-
ção e pela emancipação socialista a partir do local de trabalho e mais a
tentativa de inclusão na chamada sociedade de consumo.
As reflexões trazidas por André Gorz em seu livro Estratégia operária e
neocapitalismo retratam aquele momento, os anos de 1950 e 1960, quando
os sindicatos nos países centrais são institucionalizados e legitimados no
bojo de um arranjo político que tem como premissa o aumento do poder e a
consolidação das representações trabalhistas e, como consequência, o Esta-
do Social. Isso tudo, em larga medida, é passado: nas últimas décadas, as
grandes organizações industriais, que representavam a força do trabalho or-
ganizado, foram aos poucos perdendo força, enfraquecendo sua capacidade
de confrontação, de negociação com o capital. Competição global, recessão
e incertezas econômicas crescentes trouxeram resultados devastadores para a
instituição sindical (cf. Martins Rodrigues, 1999; Western, 1999).
Fica então imediatamente evidente que lutar para que a vida conserve um sentido
é lutar contra o poder do capital, e que essa luta deve passar, sem solução de continui-
dade, do plano da empresa para o plano da sociedade, do plano sindical para o plano
junho 2009 61
Vol21n1-d.pmd 61 7/7/2009, 17:11
Estratégia operária e neocapitalismo, pp. 51-64
político, do plano técnico para o plano cultural. Cabe então ao movimento socia-
lista tomar fôlego e situar o combate no seu verdadeiro terreno: a luta pelo poder.
Tudo a partir de então é posto em jogo: os empregos, os salários, as carreiras, a
cidade, a região, a ciência, a cultura, a possibilidade de desenvolver as capacidades
dos indivíduos [...]. Tudo isso só pode ser salvaguardado ou reconquistado se o
poder de decisão passar das mãos do capital para as mãos dos trabalhadores (Gorz,
1968, p. 111).
O mundo do trabalho nos dias de hoje guarda uma considerável distân-
cia das principais teses expostas por Gorz em Estratégia operária. Ainda que
existam setores no interior do movimento dos trabalhadores que mante-
nham “a chama acesa” dos temas propostos por Gorz, em sua esmagadora
maioria, no entanto, o movimento sindical e parcelas ponderáveis das ten-
dências políticas com alguma ligação com as classes trabalhadoras – na so-
ciedade contemporânea – parecem preferir, para parafrasear Gramsci, a
guerra de trincheiras à tomada do Palácio do Inverno; a defesa dos direitos já
adquiridos nos países de capitalismo maduro e que foram solapados pelos
ventos neoliberais nos anos de 1970 e na década de 1980 à luta pela defesa
do “poder operário”. Não vivemos mais os tempos da Guerra Fria, do mun-
do bipolar, das certezas incontestes. Tudo isso ficou pelo caminho. O que se
assiste hoje é um processo irreversível de transformações nos âmbitos políti-
co, social e econômico, que deitou por terra o arcabouço institucional que
fora criado com o fim da Segunda Guerra Mundial e que colocou em xeque
o chamado compromisso fordista. Outros são os tempos, outras são as ques-
tões. Nesse sentido, é possível dizer que este livro de André Gorz é uma obra
que caracteriza uma abordagem sociopolítica que se fazia presente em am-
plos setores da esquerda revolucionária à época, e que mobilizou corações e
mentes, atingindo seu ápice no maio francês de 1968.
É importante, no entanto, situar o livro no âmbito do debate intelectual
da década de 1960. O próprio autor modifica completamente sua análise
sobre a classe operária, a sociedade capitalista e as possibilidades de uma
revolução socialista no modelo em que havia sido pensado em Estratégia
operária e neocapitalismo quando escreve Adeus ao proletariado. Aqui, já é
outro momento histórico, em que a tecnologia da informação parecia ser a
miríade do futuro. Além disso, diante das profundas mudanças ocorridas na
sociedade capitalista, Gorz já não vislumbra a estratégia socialista de refor-
mas revolucionárias que tinha como agentes o operário no local de trabalho,
o partido e o sindicato. Nesse caso, a inflexão do pensamento do autor vai
62 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 62 7/7/2009, 17:11
Iram Jácome Rodrigues
levá-lo a recontextualizar o lugar da política e, nesse novo espaço, o proleta-
riado já não seria o portador do futuro, o agente fundamental da transfor-
mação social, o sujeito da emancipação. Mas isso já é outra história.
Referências Bibliográficas
AGLIETTA, Michel. (1991), Regulación y crisis del capitalismo. México, Siglo Veintiuno.
AMORIM, Henrique. (2006), “Continuidades e rupturas teóricas em André Gorz: clas-
se social, trabalho e qualificação profissional”. In: SILVA, Josué Pereira & RODRI-
GUES, Iram Jácome. André Gorz e seus críticos. São Paulo, Annablume.
CASTELLS, Manuel. (2000), A sociedade em rede. São Paulo, Paz e Terra.
GORZ, André. (1968), Estratégia operária e neocapitalismo. Rio de Janeiro, Zahar.
_____. (1982), Adeus ao proletariado. Rio de Janeiro, Forense Universitária.
HELLER, Agnes. (1972), O quotidiano e a história. Rio de Janeiro, Paz e Terra.
MARTINS RODRIGUES, Leôncio. (1999), Destino do sindicalismo. São Paulo, Edusp.
MUNCK, Ronaldo. (2002), Globalisation and Labour. London/New York, Zed Books.
OFFE, Claus. (1989), Capitalismo desorganizado. São Paulo, Brasiliense.
QUEIROZ, José Benevides. (2006), “Sociedade e estrutura de classe no neocapitalismo
(1950/1960)”. In: SILVA, Josué Pereira & RODRIGUES, Iram Jácome (orgs.), André
Gorz e seus críticos. São Paulo, Annablume.
RODRIGUES, Iram Jácome. (2006), “Transformações no mundo do trabalho e dilemas
do sindicalismo”. In: SILVA, Josué Pereira & RODRIGUES, Iram Jácome (orgs.), André
Gorz e seus críticos. São Paulo, Annablume.
SCHMITTER, Philippe C. (1992), “¿Continúa el siglo del corporativismo?”. In:
SCHMITTER, Philippe C. & LEHMBRUCH, Gerhard. Neocorporativismo I. Más allá
del Estado y el mercado. México, Alianza Editorial.
SILVA, Josué Pereira da. (2002), André Gorz: trabalho e política. São Paulo, Annablu-
me/Fapesp.
STURMTHAL, Adolf. (1971), Consejos obreros. Barcelona, Fontanella.
THOMPSON, Edward. (1979), “Tiempo, disciplina de trabajo y capitalismo indus-
trial”. In: _____. Tradición, revuelta y consciencia de clase. Barcelona, Crítica.
_____. (1987), A formação da classe operária inglesa. Rio de Janeiro, Paz e Terra, vol. 2.
WATERMAN, Peter. (1999), “A New Union Model for a New World Order”. In: MUNCK,
Ronaldo & WATERMAN, Peter. Labour Worldwide in the Era of Globalization. Lon-
don, Macmillan Press.
WESTERN, Bruce. (1999), Between Class and Market: postwar unionization in the capitalist
democracies. Princeton, Princeton University Press.
junho 2009 63
Vol21n1-d.pmd 63 7/7/2009, 17:11
Estratégia operária e neocapitalismo, pp. 51-64
WOODCOCK, George. (1998), “A ditadura do relógio”. In: WOODCOCK, George (org.),
Os grandes escritos anarquistas. Porto Alegre, LPM.
Resumo
Estratégia operária e neocapitalismo
O objetivo deste texto é discutir algumas das questões propostas por André Gorz em
seu livro Estratégia operária e neocapitalismo, publicado em meados da década de 1960,
e situar este trabalho como parte de um conjunto mais amplo de estudos do autor em
que a questão das transformações no capitalismo, nos países centrais, pós-Segunda
Guerra Mundial, teria colocado a necessidade de novas estratégias para a ação do mo-
vimento operário e do sindicalismo. Um primeiro tema seria a relação entre as reivin-
dicações mais gerais e aquelas mais específicas, e o papel desempenhado pelas deman-
das de tipo reformista na ação trabalhista; um segundo aspecto seria refletir, a partir
dessa nova fase, à época, sobre os estudos de André Gorz acerca das mudanças mais
gerais no âmbito do capitalismo e, por extensão, das sociedades capitalistas mais de-
senvolvidas; um terceiro aspecto, e que analisaremos mais detidamente, diz respeito à
questão do local de trabalho, da empresa, da fábrica, da produção como locus funda-
mental da luta pela emancipação dos trabalhadores.
Palavras-chave: Estratégia operária; Neocapitalismo; Sindicalismo; Socialismo.
Abstract
Working-class strategy and neocapitalism
This text discusses some of the questions raised by André Gorz in his book Working-
class strategy and neocapitalism, published in the mid 1960s. It situates this work as part
of a wider set of studies by the author in which he explores the transformations in capi-
talism in central countries after the Second World War, focusing on how these
Texto recebido e apro- prompted the need for new action strategies among the working-class and union move-
vado em 24/3/2009. ments. The first theme discussed is the relationship between general and specific de-
Iram Jácome Rodri- mands and the role performed by reformism in working-class action. Secondly, based
gues é professor livre- on this new phase, the article reflects on André Gorz’s studies concerning overall
docente do Departa- changes within capitalism and, by extension, within the more developed capitalist soci-
mento de Economia e eties. Finally, the article analyzes in more detail the question of the workplace, com-
do Programa de Pós-
pany, factory and production as a fundamental locus in the fight for working-class
Graduação em Socio-
emancipation.
logia da Universidade
de São Paulo e pesqui- Keywords: Working-class strategy; Neocapitalism; Unionism; Socialism.
sador do CNPq. E-
mail: ijrodrig@usp.br.
64 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 64 7/7/2009, 17:11
Anticapitalismo e inserção social dos mercados
Ricardo Abramovay
Apresentação
O mais importante desafio da esquerda consiste em conter o avanço voraz
da racionalidade econômica sobre a vida social. O que está em questão não
é tanto a apropriação dos resultados ou dos meios materiais que permitem
o exercício do trabalho: é, antes de tudo, a própria sociedade do trabalho.
Não se trata de abolir seu pressuposto básico, o mercado. Trata-se sim de
impedir que ele determine como os indivíduos organizam suas vidas e de
ampliar ao máximo as formas de interação que não respondem às exigênci-
as mercantis. Isso não se alcança por meio de uma instância centralizada
que substitua o mecanismo dos preços pelo planejamento, e sim pelo alar-
gamento das formas de vida que não se apoiam no mercado e das quais os
hackers, o movimento de softwares livres e o Creative Commons (http://
creativecommons.org/) são as expressões mais emblemáticas. Atividades
comunitárias, cuidados pessoais, produção e difusão do conhecimento e da
informação, valorização da biodiversidade e da integridade dos ecossistemas,
relações afetivas são campos da existência ameaçados pelo mundo das mer-
cadorias e, ao mesmo tempo, nos quais há um extraordinário potencial
para construir novos modos de relações entre os indivíduos e com o mundo
natural. O capitalismo não será ultrapassado pela apropriação coletiva dos
grandes meios de produção e troca, e sim por uma transformação radical
Vol21n1-d.pmd 65 7/7/2009, 17:11
Anticapitalismo e inserção social dos mercados, pp. 65-87
nos próprios modelos de produção e de consumo em que se baseia. O mer-
cado é o contrário da autonomia individual: faz parte daquelas organiza-
ções em que a cooperação humana tem objetivos puramente funcionais e
onde as tarefas especializadas são levadas adiante com base em finalidades
que não são determinadas pelos indivíduos, mas definidas por uma racio-
nalidade que lhes é externa, prescrita pela complexidade da própria organi-
zação. Mas essa heterorregulação pode ser também planejada, programada,
como ocorre no caso do Estado e das grandes organizações privadas. O
sombrio horizonte desenhado por essa dupla heterorregulação só pode ser
enfrentado de forma construtiva caso a vida deixe de se organizar em torno
do mercado, da empresa e da máquina administrativa, e tenha na esfera
autorregulada da sociedade civil o seu eixo básico de articulação.
A oposição entre mercado e sociedade civil fundamenta, na obra de An-
dré Gorz, uma ambiciosa proposta política, próxima ao que Jeremy Rifkin
(2004), Philip Van Parijs (1996), Toni Negri e Giuseppe Cuoco (2006),
Guy Aznar (1995) e Eduardo Suplicy (2002) (sob embocaduras intelectuais
nem sempre idênticas, é verdade) chamam de renda de cidadania, alocação
universal, renda mínima ou renda de inserção. O que está aí embutido, mais
do que simplesmente uma forma de enfrentar a pobreza, é a mudança na
própria maneira de encarar, produzir e consumir a riqueza. A separação ra-
dical entre o mundo das grandes organizações (espontâneas, como o merca-
do, ou planejadas, como o Estado e as corporações) e o da integração social,
composta por laços imediatos, dotados de sentido existencial, é decisiva
também na obra de Alain Touraine (2005) e, sobretudo, de Jürgen Haber-
mas (1987). Produzir e consumir para quê? Essa pergunta só faz sentido fora
das grandes organizações heterônomas, que hoje determinam de maneira
destrutiva o uso do tempo e dos recursos por parte dos indivíduos. Quanto
maior a capacidade de prover as necessidades humanas dotando-as de senti-
do existencial, aquecendo-as por laços sociais diretos, evitando que conge-
lem sob o sopro das funções objetivas do mercado, da burocracia e das cor-
porações, mais se avança numa direção oposta ao capitalismo.
Há, entretanto, uma vertente do pensamento contemporâneo, a nova
sociologia econômica, que rejeita a suposta hostilidade sob a qual mercado
e sociedade são apresentados de maneira tão frequente. Não se trata, para
1. Esta redução é típica
essa corrente, de fundir mercado e sociedade, como se, em última análise, a
da obra de Gary Becker
(1996) e do chamado vida dos indivíduos pudesse reduzir-se a um cálculo de natureza econômi-
marxismo analítico (cf. ca1. A chamada nova sociologia econômica, que se afirma como disciplina
Elster, 1985). científica nos Estados Unidos e na Europa desde meados dos anos de 1980
66 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 66 7/7/2009, 17:11
Ricardo Abramovay
e cujos autores principais são Mark Granovetter (1985), Neil Fligstein
(2001), Viviana Zelizer (1997, 2004) e Philippe Steiner (2006), entre ou-
tros, considera o mercado como estrutura social e não como ponto de en-
contro entre atores anônimos, impessoais e que aí só podem relacionar-se
de maneira efêmera. O principal desafio dessa corrente consiste em abrir
aquilo que as ciências sociais habitualmente tratam como caixa-preta. E
quando se abre a caixa-preta do mercado, o que se encontra em seu interior
são laços sociais, é sociedade, são interações que os indivíduos procuram
permanentemente dotar de significado. As consequências políticas dessa
atitude são bem diferentes daquelas a que conduz o pensamento de André
Gorz: não se trata tanto do esforço de resistir à tomada da vida social pelo
mercado, construindo uma esfera específica de autonomia, e sim de com-
preender como se formam os mercados, em que valores, expectativas e rea-
lizações se apoiam, para então interferir permanentemente em sua organi-
zação, seja por meio do Estado, seja no interior da própria organização
privada. Aplica-se a André Gorz a crítica dirigida pela nova sociologia eco-
nômica ao trabalho pioneiro e fundamental de Karl Polanyi (1980): falta-
lhes um estudo propriamente sociológico, empírico da maneira como, nas
sociedades capitalistas contemporâneas, os mercados se organizam e intera-
gem com as pressões sociais a que se submetem.
O objetivo deste artigo é expor os fundamentos a partir dos quais André
Gorz preconiza a redução do tempo de trabalho, a renda de cidadania e o
aumento das formas de colaboração social que não se apoiam no mercado
como as bases de superação do capitalismo no mundo contemporâneo. A
essa visão será contraposta aquela que hoje prevalece na nova sociologia
econômica, em que não se trata de suprimir ou superar o capitalismo, mas
de constatar a crescente incorporação, pelo próprio mercado e pela organi-
zação empresarial, de demandas vindas das aspirações e das pressões sociais.
Longe de resultar em posição agnóstica ou conformista, o estudo empírico-
concreto, sociológico, dos mercados abre caminho para compreender e até
preconizar transformações decisivas em suas estruturas.
A inevitável opacidade da máquina burocrático-industrial
A obra de André Gorz organiza-se em torno de duas ambições básicas:
a) A primeira consiste em mostrar que a alienação, a distância que separa
os indivíduos de si próprios e dos outros, não é apenas a consequência da
exploração econômica, mas decorre da própria divisão do trabalho. Na pri-
junho 2009 67
Vol21n1-d.pmd 67 7/7/2009, 17:11
Anticapitalismo e inserção social dos mercados, pp. 65-87
meira parte das Metamorfoses do trabalho, Gorz (2003a) discute com o pró-
prio Marx (em cuja obra ele se apoia tão fortemente), procurando apontar
um erro conceitual básico de sua formulação. Marx mostra de maneira ge-
nial (nos Grundrisse e no Livro I de O capital) como o sistema de máquinas
coloca inteiramente a seu serviço a atividade criativa, transformadora do
trabalho humano. O elemento ativo, capaz de trazer algo novo para a vida
social (o trabalho humano), converte-se em pura passividade, como se as
máquinas adquirissem poder próprio. Essa ideia é fundamental, igualmen-
te, no raciocínio desenvolvido por Karl Polanyi (1980) em A grande trans-
formação, quando se refere à força destrutiva do “moinho satânico”. No en-
tanto, é o que mostra Gorz, essa inversão não decorre do capitalismo e não
seria abolida caso o regime social de produção deixasse de ser capitalista. A
relação de estranhamento entre o trabalhador e os meios materiais de pro-
dução (quer se trate de máquinas, de escritório ou de uma locomotiva) não é
abolida pelo fato de ele não mais trabalhar para o capital e sim para o coleti-
vo organizado dos operários que teriam controle sobre a produção social. A
2. “O fracasso do panr- tentativa soviética de imprimir identidade existencial, sentido humano ao
racionalismo socialista
trabalho resultou no stakhanovismo, que em nada se distinguia das piores
não pode ser explicado
apenas por razões histó- práticas administrativas aplicadas nas sociedades capitalistas. O projeto po-
ricas e empíricas. Sua ra- lítico que consiste em ultrapassar o capitalismo por meio da expropriação
zão profunda é ontoló- dos grandes meios de produção e troca e da substituição generalizada do
gica: é ontologicamente mercado pelo planejamento central padece do vício de imaginar que uma
que a utopia marxiana
organização social complexa pode ser perfeitamente transparente aos olhos
que faz coincidir traba-
de seus participantes e, por aí, então, gerida de forma democrática. As me-
lho funcional e ativida-
de pessoal é irrealizável gaorganizações privadas e públicas características das atuais sociedades de
na escala dos grandes sis- massa são necessariamente opacas, quaisquer que sejam as regras de
temas pelo fato evidente alocação e distribuição da propriedade e dos resultados do trabalho. É cien-
de que o funcionamen- tificista e tecnocrático o mito de que o controle do Estado pela sociedade
to da megamáquina in-
organizada pode oferecer imagem visível, compreensível do funcionamento
dustrial burocrática exi-
ge uma subordinação das grandes organizações, a ponto de permitir o planejamento democrático
das tarefas que, uma vez e participativo. Essa crítica marca a trajetória intelectual de André Gorz e
instalada, perpetua-se e consolida-se na obra visionária que, publicada em 1988 (um ano antes da
deve perpetuar-se por queda do Muro de Berlim), mostrava que a inviabilidade dos regimes de
inércia, a fim de tornar
planejamento central não decorria de circunstâncias históricas particulares
viável e calculável a fun-
cionalidade de cada uma
(da destruição da vanguarda operária russa durante a Guerra Civil dos anos
das engrenagens huma- de 1920, ou de um suposto desvio de rota representado pelo stalinismo, por
nas” (Gorz, 2003a, pp. exemplo), mas sim do equívoco de imaginar que o trabalho fabril pode ser
48-49). emancipador, uma vez despojado de sua natureza capitalista2.
68 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 68 7/7/2009, 17:11
Ricardo Abramovay
b) A segunda ambição fundamental de Gorz é definir em que pode con-
sistir a emancipação humana nas sociedades contemporâneas. A influência
do pensamento de Sartre, nesse sentido, é decisiva, como Gorz o reconhece
na entrevista que abre a obra póstuma Écologica (2008). Sua posição lembra a
célebre tirada de Rimbaud (“je est un autre”, eu é um outro), quando ele afir-
ma: “não é ‘eu’ que age” (“ce n’est pas ‘je’ qui agit”), é a lógica automatizada
dos agenciamentos sociais que age através de mim enquanto Outro, me faz
contribuir à produção e reprodução da megamáquina social. É ela o verda-
deiro sujeito” (Gorz, 2008, p. 12). A emancipação humana, para Gorz, não
passa por suprimir o capital numa organização em que a vida continuaria
submetida a organizações heterônomas, sobre as quais o indivíduo não tem
como exercer poder, nem atribuir sentido, e sim pela reconstrução do sujei-
to, por espaços crescentes de autonomia e de vida comunitária, em que o co-
tidiano escapa ao caráter mecânico que as grandes estruturas procuram lhe
imprimir por meio do consumo e das atividades programadas no trabalho.
Como, porém, compatibilizar o projeto emancipador de afirmação do
sujeito individual, sua capacidade construtiva de insubmissão contra a me-
gamáquina industrial-burocrática, com a existência objetiva dessas organi-
zações e com o fato de elas preencherem funções úteis e essenciais na provi-
são de bens e serviços? A resposta convencional do movimento socialista (a
submissão da máquina burocrático-industrial ao controle organizado dos
trabalhadores, por meio da expropriação dos grandes meios de produção e
troca) é, para Gorz, catastrófica e está na origem da tragédia ocorrida com
o mundo socialista.
É verdade que Gorz, crítico contundente da utilidade dessas funções
essenciais, mostra ao longo de toda sua obra que o próprio consumo resulta
da submissão do indivíduo às organizações heterônomas que buscam per-
manentemente determinar sua vida. No curto relato biográfico contido na
introdução de Écologica, ele explica:
Meu ponto de partida foi um artigo publicado num semanário norte-americano
em 1954. Ele explicava que a valorização das capacidades de produção americanas
exigia que o consumo crescesse ao menos 50% nos próximos oito anos, mas que as
pessoas seriam incapazes de definir de que seriam feitos seus 50% de consumo
suplementar (Idem, p. 14).
Essa definição viria dos especialistas em publicidade e marketing, res-
ponsáveis por suscitar necessidades e desejos capazes de promover o funcio-
junho 2009 69
Vol21n1-d.pmd 69 7/7/2009, 17:11
Anticapitalismo e inserção social dos mercados, pp. 65-87
namento do sistema econômico. Daí resulta a importância, na obra de Gorz,
de seu vínculo com a ecologia política, ou seja, sua abordagem teoricamen-
te crítica tanto da formação das necessidades, como da própria técnica (a
“tecnocrítica”, para usar sua expressão), aspectos em que o trabalho de Ivan
Illitch influenciou de maneira tão fundamental seu pensamento:
Illich distinguia duas espécies de técnicas: as que ele chamava de propícias à convi-
vência (conviviales), que aumentam o campo da autonomia, e aquelas, heterônomas,
que o restringem ou o suprimem. Eu [Gorz] as chamei “tecnologias abertas” e
“tecnologias ferrolho”. São abertas as que favorecem a comunicação, a cooperação,
a interação, como o telefone ou, atualmente, as redes de softwares de livre acesso.
As “tecnologias ferrolho” são as que submetem o usuário, programam suas opera-
ções, monopolizam a oferta de um produto ou de um serviço (Idem, p. 16).
Isso não significa, no entanto, que se possa preconizar como programa
político a supressão dessas “tecnologias ferrolho”, das empresas vinculadas à
sua produção ou dos mercados aos quais se dirigem seus produtos. O notá-
vel na obra de André Gorz (sobretudo em Metamorfoses do trabalho) é que a
crítica à maneira como se formam e difundem os padrões de produção e
consumo no capitalismo não se faz sob um registro tradicionalista e basea-
do em melancólica utopia de volta ao passado. Ao contrário, a crítica da
razão econômica não conduz à proposta de sua pura e simples supressão. É
necessário delimitá-la, restringir sua expansão, mas ao mesmo tempo seria
absurdo negar o papel decisivo que a racionalidade econômica (a expressão
mais emblemática da esfera da heteronomia da vida social) desempenha no
mundo contemporâneo. Vejamos a questão mais de perto.
O mercado como esfera pública
A crítica ao capitalismo e à alienação nele necessariamente contida não
conduz Gorz a preconizar a abolição do mercado e da racionalidade econô-
mica. Ele se separa, nesse sentido, não apenas do que se pretendeu levar
adiante na construção das economias centralmente planificadas, mas do
projeto que dominou a esquerda no século XX: mudar o conteúdo e o
modo de funcionamento da economia contemporânea suprimindo sua na-
tureza capitalista, colocando-a a serviço do coletivo organizado dos traba-
lhadores. Que essa supressão seja feita de forma violenta (por meio da dita-
dura do proletariado) ou pacífica (pela conquista eleitoral do poder, como
70 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 70 7/7/2009, 17:11
Ricardo Abramovay
o preconizava o eurocomunismo), Gorz critica a ideia de que o controle
estatal dos grandes meios de produção e troca é capaz de abrir caminho
para que a alocação e a distribuição dos recursos respondam (uma vez abolida
a propriedade capitalista) às necessidades sociais e não mais ao lucro.
Para Gorz a ambição contida nesse projeto é duplamente ilusória. De
um lado, ela supõe que a gestão de grandes organizações complexas, uma
vez suprimida sua sujeição ao capital, pode tornar-se uma questão técnica,
cujos conteúdo e métodos seriam amplamente acessíveis e, portanto, passí-
veis de um planejamento verdadeiramente participativo. A parábola de Lênin
sobre o planejamento sendo levado adiante por qualquer cidadão, até por
uma cozinheira, é emblemática nesse sentido e supõe que a supressão do
fetichismo da mercadoria e do capital é condição necessária e suficiente
para abolir a opacidade do mundo social. Gorz cita a célebre passagem do
final da Ética protestante e o espírito do capitalismo em que Max Weber usa
expressões como “petrificação mecanizada”, “especialistas sem espírito”,
“sensualistas sem coração”, e conclui que “o funcionamento da megamá-
quina burocrático-industrial e a motivação de seus felás a funcionarem como
engrenagens, colocaram-lhes problemas de regulação cada vez mais difíceis
de resolver. Nenhuma racionalidade, nenhuma visão totalizante podiam
assegurar um sentido, uma coesão, um fio condutor ao conjunto” (Gorz,
2003a, p. 45).
A segunda fonte de ilusão contida nessa utopia totalizante explica a pró-
pria ineficiência do aparato produtivo das economias centralmente planifi-
cadas até a queda do Muro de Berlim. As sociedades modernas não podem
simplesmente abolir o “trabalho racional no sentido econômico” (Idem, p.
135), cujo traço essencial é a busca de eficiência e não de significado:
[...] o trabalho efetuado em vista de sua troca mercantil, por mais interessante que
seja, não pode estar no mesmo plano da atividade do pintor, do escritor, do missi-
onário, do pesquisador, do revolucionário etc., que aceitam viver na privação por-
que é sua própria atividade que serve para eles de objetivo primário e não o valor de
troca dessa atividade” (Idem, p. 136).
Existe um vasto campo da vida social em que as atividades mercantis e o
mercado justificam-se de forma perene por sua capacidade técnica de ofere-
cer bens inacessíveis à produção doméstica, artesanal, artística ou resultante
do trabalho voluntário. As atividades mercantis são socialmente nefastas ali
onde não aumentam em nada a produtividade do trabalho, nem contribu-
junho 2009 71
Vol21n1-d.pmd 71 7/7/2009, 17:11
Anticapitalismo e inserção social dos mercados, pp. 65-87
em para reduzir o esforço social na oferta de bens e serviços: é o caso dos
serviços de proximidade, dos cuidados pessoais, da vida afetiva, bem como
da construção dos vínculos sociais de proximidade. Mas a lógica que preside
a formação desses vínculos é totalmente incompatível com aquela que rege a
vida numa organização destinada à produção de aviões ou à gestão da rede
elétrica de uma região, e onde a rígida divisão do trabalho, a disciplina da
fábrica e a intransparência da hierarquia na atribuição das tarefas são inevi-
táveis. Uma vez que essas atividades mercantis são levadas adiante numa
esfera pública (o mercado), trazem consigo uma forma decisiva de reconhe-
cimento social: “o fato de uma atividade ser objeto de troca mercantil na
esfera pública denota, de princípio, que se trata de uma atividade socialmen-
te útil, criadora de um valor de uso socialmente reconhecido como tal”. Não
há qualquer tipo de vínculo afetivo, pessoal ou comunitário nessas relações
sociais: “os próprios clientes, aliás, não me pedem para trabalhar para eles
como pessoas privadas (como se pede a um empregado doméstico, por
exemplo), mas para fazer um trabalho determinado em condições e preços
determinados”. Essa é a razão pela qual “o trabalho remunerado na esfera
pública é fator de inserção social” (Idem, pp. 137-138).
A racionalidade econômica deve aplicar-se às atividades que preenchem
quatro condições básicas: “a) criam valor de uso; b) têm em vista uma troca
mercantil; c) realizam-se na esfera pública e d) em um tempo mensurável, e
com um rendimento o mais elevado possível” (Idem, p. 137).
Fazer o trabalho doméstico com base no assalariamento, por exemplo,
não tem qualquer utilidade social, pois não aumenta a eficiência global na
realização do serviço a ele associado. O fato de o trabalho doméstico repre-
sentar a criação de um “emprego” não é suficiente para justificá-lo: trata-se
de um emprego que em nada contribui para melhorar a capacidade social de
oferecer um determinado bem ou serviço. Da mesma forma, liberar alguém
do trabalho doméstico ou do cuidado com os filhos em nome da preserva-
ção de sua capacidade produtiva na esfera mercantil a que se dedica
tampouco tem sentido social e mostra apenas a imensa dificuldade em par-
tilhar o tempo de trabalho entre os indivíduos para que todos possam traba-
lhar (cada vez menos) dedicando-se (cada vez mais) a atividades dotadas de
sentido pessoal e comunitário.
A grande contradição do capitalismo é que as atividades heterônomas,
levadas adiante na esfera pública do mercado, exatamente por se sujeitarem
à concorrência, são poupadoras e não criadoras de trabalho. É cada vez me-
nor o tempo que a sociedade dedica à produção desses bens e serviços, cuja
72 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 72 7/7/2009, 17:11
Ricardo Abramovay
oferta passa pela esfera mercantil. Só que em vez de essa consequência da
inovação e do progresso técnico ser colocada a serviço da sociedade (liberan-
do os indivíduos do trabalho), ela se traduz em crise e em desemprego. Pior:
o aumento potencial do tempo socialmente livre decorrente da elevação da
produtividade do trabalho traduz-se no esforço de gerar emprego e na tenta-
tiva obstinada de fazer da vida pessoal e comunitária, dos cuidados com o
meio ambiente, da troca livre de conhecimentos e informação um campo de
trocas mercantis, quando nada justifica – sob o ângulo da pura eficiência
econômica – que esses terrenos se submetam à lógica do mercado. Em vez
de organizar a gestão de uma quantidade cada vez maior de tempo livre, o
capitalismo contemporâneo procura, cada vez mais, economicizar3 esse tem- 3. Economicizar é um
po, submetê-lo a uma racionalidade que em nada lhe agrega em termos de termo empregado por
eficiência, embora possa representar a criação de mais “empregos”. Gorz. Significa fazer en-
trar na esfera econômi-
A originalidade da posição de Gorz reside na elaboração de um cami-
ca algo que, de manei-
nho inteiramente descentralizado para a construção de uma sociedade não ra precípua, não lhe
capitalista. E é exatamente por isso que ele pode afirmar, no primeiro capí- pertence.
tulo de Écologica, que “a saída do capitalismo já começou” (Gorz, 2008, p.
25): essa saída não depende da tomada do poder político, da expropriação
dos meios de produção e troca ou do planejamento central.
[...] as empresas já vêm trabalhando em boa medida no âmbito de redes, unindo-
se nos momentos de tomada de decisão. A auto-organização, a autocoordenação e
a livre troca estão hoje na base da produção social. E são realizadas sem a necessida-
de de um planejamento central nem da intermediação do mercado. Os produtores,
que se relacionam entre si em redes, colocam-se em comum acordo preventiva-
mente e de maneira pactuada para produzir em função das necessidades, desenvol-
vendo sua função produtiva como um complexo de atividades essencialmente co-
letivas, promovendo um intercâmbio de bens e serviços sem que tenha sido
previamente acertado o caráter dessas mercadorias. O dinheiro torna-se então su-
pérfluo, e o capital teria assim sua própria base capturada (Gorz, 2003b, s. p.).
A consequência é o alargamento das áreas em que a oferta de bens e
serviços (e, portanto, a própria produção das necessidades a eles associadas)
escapa à dominação capitalista.
Numa linha de raciocínio muito próxima à desenvolvida por Benkler
(2006), Lerner e Tirole (2002) e Lessig (2001), Gorz mostra, por exemplo,
que não há qualquer ganho social na obstinada tentativa de privatizar a econo-
mia do conhecimento e da informação (cf. Gorz, 2003b). Elas têm por base
junho 2009 73
Vol21n1-d.pmd 73 7/7/2009, 17:11
Anticapitalismo e inserção social dos mercados, pp. 65-87
[...] uma riqueza com a vocação de ser um bem comum [...] a área da gratuidade se
estende irresistivelmente. A informática e a internet minam o reino da mercadoria
em sua base. Tudo o que é traduzível em linguagem informatizada e reprodutível,
comunicável sem despesa, tende irresistivelmente a transformar-se em bem co-
mum e até em bem comum universal quando acessível a todos e utilizável por
todos” (Gorz, 2008, p. 37).
É isso que define o conflito central de nossa época:
[...] ele se estende e se prolonga na luta contra a mercantilização das riquezas pri-
meiras – a terra, as sementes, o genoma, os bens culturais, os saberes e competên-
cias comuns, constitutivos da cultura cotidiana e que são as premissas da existência
de uma sociedade. Do feitio dessa luta depende a forma civilizada ou bárbara que
tomará a saída do capitalismo (Idem, p. 39).
4. A excelente síntese de O surgimento da internet fortaleceu um ambiente no qual emergem
Steiner (2000) é uma formas de ação coletiva que não se baseiam nem no sistema de preços nem
exceção. Num ambien-
nas modalidades coordenadas de práticas típicas das firmas ou dos grupos
te em que predomina
a indiferença, chamam
de firmas. A internet oferece uma plataforma de comunicação que fortalece
a atenção o preconcei- a ação em rede dos indivíduos.
to e a superficialidade
que permitem a Swed- Inserindo o mercado na vida social
berg lançar a pérola de
que, “por muitas razões,
A obra de Gorz não deu lugar, infelizmente, a nenhuma análise explí-
é óbvio que a sociolo-
gia econômica não cita por parte dos nomes mais expressivos da sociologia econômica con-
pode aceitar o Marxis- temporânea. O diálogo entre essa corrente de pensamento e os autores de
mo em seus próprios inspiração marxista é, de fato, muito precário. O uso de referenciais teó-
termos”. Só quem tem ricos apoiados em Marx é quase inexistente4. Em contrapartida, a nova
um conhecimento pre-
sociologia econômica tem relação muito próxima com a obra de um dos
cário da obra e do mé-
todo de Marx pode inspiradores de Gorz: Karl Polanyi, para quem, da mesma forma que em
afirmar que “ele era ob- Gorz, o mercado tende a se apropriar de domínios da existência social
cecado pelo papel da que não respondem e não podem responder à sua lógica própria. Polanyi
economia na socieda- insiste na ideia de que terra, trabalho e dinheiro não passam de “merca-
de e desenvolveu uma
dorias fictícias”, frutos da ilusão utópica de fazer da natureza, do próprio
teoria em que a econo-
mia determina a evo-
homem e dos laços sociais parte da economia de mercado. A sociedade
lução geral da socieda- organiza-se sob diferentes formas para reagir a essa invasão permanente, e
de” (Swedberg, 2003, a construção do Estado de Bem-estar exprime uma das mais interessantes
pp. 8-10). formas dessa reação.
74 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 74 7/7/2009, 17:11
Ricardo Abramovay
Mas o esforço analítico de examinar o mercado como imerso na vida
social se concentrou, no caso de Polanyi, em sociedades não capitalistas. A
crítica que lhe dirige Mark Granovetter (1985) no texto de fundação da
nova sociologia econômica é que ele não estuda empiricamente as determi-
nações sociais, histórico-concretas dos mercados existentes no próprio ca-
pitalismo. Não o faz exatamente por estipular o mercado como esfera autô-
noma da vida social, como se respondesse a uma lógica dada de antemão
por suas funções essenciais5: 5.A interessante críti-
ca de Gemici (2008)
Foi majoritária, durante muito tempo, entre sociólogos, antropólogos, cientistas vai exatamente na mes-
ma direção.
políticos e historiadores, a visão de que o comportamento econômico estava pro-
fundamente imerso nas relações sociais em sociedades pré-mercantis e tornou-se
muito mais autônomo com a modernização. Esse ponto de vista encara a econo-
mia como uma esfera crescentemente separada, diferenciada, na sociedade moder-
na, onde as transações econômicas não são mais definidas por obrigações sociais ou
de parentesco daqueles que transacionam e sim por cálculos racionais, voltados aos
ganhos dos indivíduos (Granovetter, 1985, p. 482).
Esse processo de separação e diferenciação faz parte da melhor tradição
das ciências sociais contemporâneas. O fetichismo da mercadoria, por exem-
plo, só pode existir ali onde os vínculos de mercado se apoiam no “estra-
nhamento recíproco”, para usar a expressão de Marx, entre os que dele
fazem parte, quando os indivíduos se reconhecem exclusivamente na quali-
dade de portadores dos bens e serviços que transacionam de forma anôni-
ma e impessoal. O mercado que vai resultar na formação do capitalismo
supõe que não haja laços de dependência pessoal entre seus participantes.
Vínculos sociais de real cooperação só podem ser alcançados quando a opa-
cidade característica do mundo das mercadorias for suprimida em benefí-
cio de uma organização racional, capaz de representar aos olhos de seus
participantes a verdadeira natureza de sua ligação.
No último (e inacabado) capítulo do volume I de Economia e sociedade,
Max Weber – num registro que faz pensar em Marx – afirma:
Quando o mercado é deixado à sua legalidade intrínseca, leva apenas em consi-
deração a coisa, não a pessoa, inexistindo para ele deveres de fraternidade e devo-
ção ou qualquer das relações humanas originárias sustentadas pelas comunida-
des pessoais [...]. O mercado, em contraposição a todas as demais relações
comunitárias que sempre pressupõem a confraternização pessoal e na maioria
junho 2009 75
Vol21n1-d.pmd 75 7/7/2009, 17:11
Anticapitalismo e inserção social dos mercados, pp. 65-87
das vezes a consanguinidade, é estranho, já na raiz, a toda confraternização (We-
ber, 1991, p. 420).
Apesar das embocaduras tão distintas que fundamentam essas análises,
em ambos os casos há uma fissura intransponível entre mercado e vida co-
munitária, entre as relações que se apoiam exclusivamente nos mecanismos
de preços e a interação social baseada em laços concretamente identificáveis.
É sobre a base dessa tradição que Gorz denuncia a propensão destrutiva do
mercado de apropriar-se de domínios da vida social em que sua presença
pode representar ganhos empresariais, mas não aumento de eficiência so-
cial. E mesmo onde o mercado é reconhecido como esfera pública legítima
de afirmação dos indivíduos, não é ali que se encontra o domínio em que
podem ser construídos significados e modalidades de interação capazes de
imprimir sentido à vida dos indivíduos uns com os outros.
Uma das mais importantes preocupações da nova sociologia econômica
consiste em estudar os mercados como construções sociais e não como enti-
dades mágicas e diabólicas cujo funcionamento corrói a cultura, a ciência e
os próprios vínculos sociais. Portanto, os mercados não serão vistos como
esfera institucional autônoma da vida social e sim analisados a partir de sua
construção social. Isso envolve uma crítica tanto à ideia canônica dos ma-
nuais de economia em que mercados são mecanismos neutros de equilíbrio
entre indivíduos isolados uns dos outros, como à noção de que são fatores de
corrupção e pasteurização da cultura humana e das formas mais nobres de
existência social. Mercados não são entidades impessoais em que unidades
autônomas e anônimas se encontram de maneira ocasional, orientados pe-
los sinais emitidos pelos preços. Mas tampouco são formas em que os indiví-
duos apenas obedecem, sem o saber, a determinações que vão além de sua
capacidade e de sua vontade.
Há ao menos três campos de estudos empíricos que ilustram o teor das
críticas que a nova sociologia econômica dirige a abordagens como a de
Gorz, discutidos a seguir.
A economia da informação em rede
Nos últimos anos de sua vida Gorz testemunhou a expansão de um
fenômeno que materializava o caminho por ele preconizado na luta contra
o capitalismo. Em O imaterial, ele mostra que o capitalismo é incapaz de
transformar a abundância da inteligência humana – expressa em redes cada
76 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 76 7/7/2009, 17:11
Ricardo Abramovay
vez mais difusas e complexas – em escassez e, portanto, de fazer dela fonte
de lucro (cf. Gorz, 2005, p. 69). É o que explica a própria crise do “capita-
lismo do saber” e o extraordinário potencial de emancipação que ela abre.
O capitalismo quer apropriar-se da inteligência coletiva e “economicizar”
as atividades e as riquezas que ela é capaz de produzir. A ele se opõem os
que Gorz (2005, p. 63) chama de “dissidentes do capitalismo digital”, mui-
tos dos quais têm na partilha do conhecimento e da informação um precei-
to ético decisivo da maneira como levam adiante suas atividades: “a ativida-
de do hacker repousa numa ética de cooperação voluntária, na qual cada
um se compara aos outros pela qualidade e pelo valor de uso da sua contri-
buição para seu grupo, coordenando-se livremente com eles. Nada se pro-
duz com a finalidade de trocas comerciais” (Idem, p. 67).
Ainda que sob registros diferentes, esse mesmo tipo de análise pode ser
encontrado numa importante literatura que estuda a emergência da “econo-
mia da informação em rede”, para usar a expressão de Benkler (2006): “Na
economia da informação em rede, o capital físico que se requer para a pro-
dução é amplamente distribuído pela sociedade”. Isso abre caminho a que os
indivíduos interajam como seres humanos, como seres sociais, mais que
como atores de mercado (cf. Idem, pp. 5-6).
O problema dessa abordagem é que tudo se passa como se estivesse sur-
gindo uma sociedade livre de estruturas e de coerções e em que a cooperação
humana se despoja de qualquer forma de hierarquia e dominação, para ex-
primir apenas a riqueza das próprias redes. É bem verdade, como insistem
Gorz e Benkler, que as possibilidades da cooperação aumentaram e se diver-
sificaram muito. Entretanto, essa cooperação vai combinar sempre formas
mercantis e não mercantis, e nessa combinação serão estabelecidas modali-
dades de dominação que não podem ser ignoradas. O que o trabalho de
Mark Granovetter, por exemplo, procura mostrar é que as redes sociais, a
cultura informal, o estabelecimento de códigos implícitos e, mais que isso,
os laços personalizados de lealdade, os compromissos localizados, os víncu-
los afetivos e a atribuição de significados são parte integrante do funciona-
mento dos mercados e não expressões tradicionais que seu desenvolvimento
contemporâneo seria capaz de extirpar. O fluxo de informações necessário
ao funcionamento do mercado não tem nada de automático ou impessoal.
As atividades mercantis supõem vínculos de confiança que vêm de fontes
não pertencentes estritamente às relações mercantis (cf. Granovetter, 2005).
Inversamente, é preciso procurar na difusão livre e aberta da cultura, do
conhecimento e da informação as estruturas sociais, as formas de domina-
junho 2009 77
Vol21n1-d.pmd 77 7/7/2009, 17:11
Anticapitalismo e inserção social dos mercados, pp. 65-87
ção que, apesar das intenções explícitas de seus participantes, lhes são sub-
jacentes. Estudo realizado, por exemplo, sobre o paradoxo de os produtores
culturais ligados ao tecnobrega paraense estimularem a divulgação de seu
trabalho por meio de CDs oferecidos quase gratuitamente mostra a exis-
tência de uma clara hierarquia entre os que participam dessa atividade. A
oferta gratuita de gravações musicais tem como contrapartida o poder dos
donos das aparelhagens sobre a organização de shows lucrativos, bem como
uma entrada altamente seletiva na publicidade veiculada pelas emissoras de
rádio (cf. Favareto et al., 2007).
A maneira como Gorz (e Benkler) encara o potencial emancipatório da
economia da informação em rede é, portanto, objeto de duas críticas im-
portantes. De um lado, Gorz e Benkler parecem não perceber que o pró-
prio mercado não poderia funcionar se não se apoiasse em formas de socia-
bilidade não restritas a propriedades e contratos, o que significa ao menos
um grão de sal na oposição tão marcada entre o calor das relações humanas
significativas e a fria objetividade daquilo que seria próprio ao mercado. A
segunda crítica é que tudo se passa como se a extensão da área de gratuidade
que acompanha a internet conduzisse a formas de interação desprovidas de
estruturas hierárquicas de dominação. No caso do tecnobrega paraense, a
presença dessa hierarquia é nítida. Quanto aos domínios em que agem os
hackers, uma abordagem sociológica procuraria aí formas de dominação
social, estruturas que se impõem – apesar da supressão da propriedade pri-
vada e do esforço de fazer da rede um espaço genuíno e voluntário de coo-
peração humana.
Mercados contestáveis e singularidades
Em 1974, constatando perigosa pasteurização do “discurso ecológico” e
a emergência de uma ecologia de direita, Gorz publica em Les Temps Moder-
nes um artigo-manifesto em que alerta contra o perigo de que a defesa do
meio ambiente seja inteiramente recuperada pelos interesses dominantes.
“O que queremos? Um capitalismo capaz de se acomodar diante das pres-
sões ecológicas ou uma revolução econômica, social e cultural que represen-
te a abolição do capitalismo e, por aí, instaure uma nova relação dos homens
com a coletividade, com seu meio ambiente e com a natureza? Reforma ou
revolução?” (Gorz, 1974, s. p.).
O que está totalmente ausente do horizonte de Gorz (tanto nesse texto
de 1974, como em seu trabalho posterior) é a ideia de que mercados po-
78 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 78 7/7/2009, 17:11
Ricardo Abramovay
dem ser espaços de expressão de importantes pressões e mesmo de mudan-
ças sociais. O que a sociologia econômica contemporânea procura trazer à
tona é a ideia de que existe dependência mútua entre corporações e socie-
dade. O trabalho de Andrew Hoffman (2001) sobre o surgimento do am-
bientalismo corporativo nos Estados Unidos é um excelente exemplo nessa
direção. Longe de tratar o tema como esforço ardiloso das empresas em
lançar cortina de fumaça capaz de sacrificar os anéis para salvar os dedos,
Hoffman escreve uma história institucional do que chama ambientalismo
corporativo nos Estados Unidos. Inspirado, em grande parte, no trabalho
de Pierre Bourdieu, ele mostra a organização empresarial como campo so-
cial, permanentemente atravessado pela ação de militantes, pelas decisões
do governo e pela própria reputação da firma. As escolhas das empresas não
envolvem apenas seleção de tecnologias, preços e procedimentos produti-
vos, mas também a maneira como vão relacionar-se com as dimensões
socioambientais do que fazem. O “índice de acesso aos medicamentos”
(www.atmindex.org) , por exemplo, chama a atenção nesse sentido, pela
natureza surpreendente da parceria entre importantes organizações não
governamentais (como a Oxfam ou a Icco, por exemplo) e a indústria far-
macêutica na formulação de indicadores capazes de mostrar qual a utilida-
de social daquilo que o setor produz. Não se trata de filantropia ou de
trabalho social paralelo às atividades industriais, e sim do que ocorre no
interior do próprio mercado. O “índice de acesso aos medicamentos” põe
em questão o modelo tradicional, em que os grandes laboratórios ganham
basicamente pela proteção dos direitos de acesso à inovação. Esse modelo
está em franca contestação pelas sistemáticas quebras de patente que a Jus-
tiça vem impondo em diversos países. Assim, a afirmação da Oxfam de que
é necessário à indústria encontrar novas formas de fazer negócios, nas quais
a responsabilidade pelo acesso aos medicamentos faça parte do foco princi-
pal (core business) da empresa, é muito mais que um desejo. O índice é
elaborado por atores sociais diversos: indústria, universidade, consultores,
governos, organizações religiosas e a própria Oxfam. Ele atribui pesos a
vários aspectos do comportamento do setor que jamais se exprimiriam em
seus balanços contábeis. A maneira como os laboratórios fazem a gestão do
acesso aos medicamentos, as consequências de suas pesquisas sobre o com-
bate às chamadas doenças negligenciadas, o caráter equitativo de sua políti-
ca de preços, políticas de patentes e de licenciamento são alguns dos itens
que entram no índice. Alguns fundos de investimento adotarão o índice
como critério para suas aplicações no setor.
junho 2009 79
Vol21n1-d.pmd 79 7/7/2009, 17:11
Anticapitalismo e inserção social dos mercados, pp. 65-87
No mesmo sentido, Thierry Hommel e Olivier Godard (2001) pergun-
tam: por que razão, nos últimos vinte anos, é tão importante a ação de gran-
des empresas que, em vez de esperar imposições do poder público, anteci-
pam-se e dotam-se de cartas, protocolos e acordos voltados a reduzir os
impactos ambientais negativos daquilo que fazem? Não se trata de uma
apologia da livre iniciativa, pela qual as empresas poderiam resolver os desa-
fios ambientais sem a fiscalização estatal. O importante é que as empresas
estudadas por Hommel e Godard não se isolam do ambiente social em que
vivem. Assim, são levadas a organizar o que chamam de “gestão antecipada
da contestabilidade”: os lucros de uma grande empresa dependem da legiti-
midade e da credibilidade social que inspira. É muito mais que uma questão
de marketing ou de imagem. Existem sistemas de legitimidade que permi-
tem justificar as ações empresariais e cuja ausência amplia de forma extraor-
dinária a incerteza de seu horizonte futuro. O que está em jogo vai além das
disposições morais de cada empresário individual: o importante é que há
6. O trabalho de Ana fenômenos sociais que interferem na própria organização industrial6.
Célia Castro (2007) so- Há um duplo fenômeno que a rígida oposição entre mercado e socieda-
bre catching-up na in-
de civil, dinheiro e vínculos sociais genuínos impede de levar em conta. Por
dústria agroalimentar
brasileira também insis- um lado, é crescente a esfera mercantil de atividades específicas e qualifica-
te na inserção dos mer- das por atributos ambientais ou sociais: é o caso do comércio justo, da
cados como base para economia solidária (cf. Singer, 2002) e de inúmeros selos ambientais (cf.
sua transformação. Conroy, 2007; Carneiro, 2006). Mais importante – como bem mostra
Karpik (2007) – é o fato de uma quantidade crescente de produtos exigi-
rem algum tipo de qualificação que se apoia em contatos pessoais ou em
densas redes sociais: é o caso, por exemplo, da busca de um psicanalista, de
um advogado, de um bom restaurante, de um bom vinho, de um produto
ou um serviço ecologicamente sustentável. Por mais que seus preços con-
tem, os mercados desses produtos não se formam com base nas mesmas
regras que caracterizam os mercados de bens de massa e indiferenciados.
Eles vão exigir modalidades de coordenação econômica que a visão conven-
cional de mercado é incapaz de conter. Deverão ser qualificados, singulari-
zados, e esse é um exercício que exige a construção de dispositivos de julga-
mento (cf. Karpik, 2007) que determinam a maneira como cada mercado
monta seu regime de coordenação. Isso não importa apenas para os bens de
luxo, mas também para mercadorias cuja qualidade social e ambiental é
permanentemente questionada, como os biocombustíveis ou os transgênicos.
O estudo das singularidades, tal como proposto por Karpik (2007), faz
parte de um longo percurso em que as ciências sociais dotam-se de meios
80 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 80 7/7/2009, 17:11
Ricardo Abramovay
para examinar os mercados sob o ângulo das qualidades e não fundamen-
talmente das equivalências. O aparato neoclássico com suas unidades autô-
nomas e isoladas umas das outras é totalmente inadequado para isso. O
importante é que o próprio mercado passa a ser visto como construção
política, cultural, em cujas estruturas é permanente a intervenção cons-
ciente e voluntária dos atores. Nesse sentido, os mercados não são elemen-
tos de deterioração da cultura e da vida social, mas, ao contrário, são cons-
truídos permanentemente pela própria qualidade dos vínculos estabelecidos,
em cada sociedade, entre os indivíduos e entre os grupos sociais. Os merca-
dos não são os indevidos invasores da integridade cultural do mundo. Eles
se encontram – como bem o provam os diferentes equipamentos sociais em
que se apoia o julgamento das singularidades – entre os principais produtos
da própria cultura humana. São, portanto, um espaço decisivo de atuação
política cujo sentido não é forçosamente o de aniquilar a diversidade, exter-
minar a cultura e aviltar os laços sociais.
Economia e intimidade
O terceiro exemplo de um campo empírico que a sociologia econômica
aborda de forma alternativa à visão de Gorz tem em Viviana Zelizer sua ex-
pressão mais emblemática. A ideia central de Zelizer (1997, 2004) é que o
uso do dinheiro nas relações pessoais tem significado permanentemente
construído e reconstruído pelos indivíduos e que fora de suas relações sociais
concretas e específicas é impossível compreender e julgar se o dinheiro está
entrando de forma invasiva para corromper costumes – como no tráfico de
pessoas – ou se exprime apenas uma das muitas dimensões de que se com-
põem os laços humanos. As fronteiras entre o que é ou não aceitável são
erguidas pelos indivíduos – e pelas organizações –, e nessas fronteiras eles
definem suas próprias relações. O importante é que não existe uma esfera
que pode ser definida em tese como externa ao mundo do dinheiro e outra
em que só o dinheiro conta. Mesmo nas relações eróticas, a presença do di-
nheiro não é sempre e necessariamente sinal de prostituição, como bem
mostra o trecho do último livro de Zelizer (2004), dedicado ao estudo do
comportamento das taxi dancers dos anos de 19307. A oposição, nesse senti- 7.Ver também o inte-
do, à maneira como Gorz (2003a, pp. 130-151) encara o trabalho de servi- ressantíssimo artigo de
çal ou a prostituição não poderia ser mais nítida. Lopes Júnior (2005).
A base empírica do trabalho de Zelizer (2004) são processos na justiça
norte-americana movidos por casais, por pessoas encarregadas de cuidados
junho 2009 81
Vol21n1-d.pmd 81 7/7/2009, 17:11
Anticapitalismo e inserção social dos mercados, pp. 65-87
domésticos e por conflitos domiciliares, desde o século XIX. A própria jus-
tiça é obrigada a elaborar categorias que lhe permitam julgar se presentes de
noivado devem ser devolvidos ou se constituem uma espécie de indeniza-
ção à ruptura do compromisso. Nos cuidados com pessoas necessitadas,
Viviana Zelizer destrói a ideia tão frequente segundo a qual, se a dedicação
é genuína, então não pode ser por dinheiro, e se for por dinheiro, é que não
há dedicação. Seu livro mostra como a vida domiciliar é atravessada por
relações que misturam permanentemente afeto e dinheiro, e que a separa-
ção rígida entre essas duas esferas provoca situações injustas como, por exem-
plo, a de considerar que o trabalho doméstico nada mais é que a expressão
do afeto da mulher por sua família.
O trabalho de Zelizer é mais um exemplo dessa importante corrente do
pensamento social contemporâneo – a sociologia econômica – que procura
estudar a inserção do mercado na vida social e que abre um horizonte pro-
missor diante do pessimismo decorrente da tese de que economia e socie-
dade civil são “mundos hostis” ou do conformismo contido na ideia de que
8. Batista (2006) mos- tudo pode ser reduzido a interesses8. Se a economia está em nossa intimida-
tra que também no pla- de e se nossa intimidade contém dimensões econômicas fundamentais, isso
no religioso o tratamen-
significa que o dinheiro e o mercado não podem ser tomados como catego-
to do dinheiro e da fé
como mundos hostis ou rias claras e distintas cujo significado objetivo é o de nos distanciar necessa-
do dinheiro como sin- riamente daquilo que somos e de nossas relações humanas mais verdadei-
toma nefasto de corrup- ras. Portanto, influir sobre a maneira como se organizam os mercados,
ção das crenças genuí- imprimir a essa organização conteúdos que não faziam parte das intenções
nas pode ser fortemen-
iniciais de seus protagonistas é um meio decisivo de mudança social nos
te colocado em questão
no candomblé.
dias de hoje.
Conclusões
Talvez o mais importante pressuposto subjacente à diferença entre as
abordagens de Gorz e a da sociologia econômica resida na maneira como é
encarado o tema da liberdade humana e da autonomia do sujeito da ação
social. Os três exemplos citados resgatam a postura sociológica que domina
os trabalhos pioneiros de Ralf Dahrendorf (1991) e de Peter Berger (1991),
para os quais não existe ação humana que possa ser caracterizada como
livre, sob o ângulo científico: explicar a ação social significa sempre mostrar
que ela está presa a determinantes que escapam ao domínio direto dos ato-
res e, portanto, jamais pode exprimir a plena autonomia do sujeito. Todo
espaço de ação social é, nesse sentido, para usar a expressão de André Gorz,
82 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 82 7/7/2009, 17:11
Ricardo Abramovay
necessariamente heterônomo. Naquilo que ele chama de esfera da autono-
mia estarão fatalmente escondidas relações de poder, de dominação, hierar-
quias, estruturas sociais, habitus (para falar como Bourdieu), formas de agir
que o indivíduo incorpora independentemente de sua vontade e sobre as
quais ele não tem e não pode ter completo e autônomo controle. A suposta
autorregulação da vida social não pode ser um espaço livre, claro, visível,
separado e independente de estruturas sociais. Inversamente, o que Gorz
chama de esfera da heteronomia não opera senão com base em um conjun-
to de relações marcado pela mistura incessante entre vida pessoal e profis-
sional, por redes que são localizadas e por vínculos que não se reduzem a
uma dimensão estritamente mercantil.
Se isso é verdade, então é possível contestar fortemente a oposição bási-
ca – tão importante no trabalho de André Gorz – entre economia e socie-
dade civil, mercado e vínculos pessoais. É exatamente nesse sentido que
Bruni e Zamagni (2007) contestam o mito de que o nascimento da econo-
mia moderna é marcado exclusivamente pelas trocas impessoais, anônimas,
desprovidas de vínculos comunitários e funcionando tanto melhor quanto
menos contaminadas pela política, pela ética ou pela moral. Para eles, os
elementos fundamentais que estariam do lado da sociedade civil ou do
mundo da vida (como a caridade, a reciprocidade e a dádiva) são centrais
na própria história da formação dos mercados modernos. Bruni e Zamagni
fazem uma reconstituição da história do pensamento social moderno e con-
temporâneo para mostrar que “a fisiologia, o funcionamento normal, a vo-
cação do mercado é representar um momento da vida civil”. É claro que o
mercado pode ser e, de fato, tem sido profundamente anticívico e destruti-
vo, com a concentração da renda e a devastação ambiental, por exemplo.
Mas essas patologias serão tanto mais severas quanto mais o mercado esti-
ver separado do humanismo cívico que, segundo Bruni e Zamagni, está na
sua origem. Público e privado, mercado e Estado, contrato e reciprocidade,
interesse e dádiva: as ciências sociais podem convergir para superar essas
oposições e, por aí, contribuir para a construção de um mundo em que os
mais importantes valores éticos não estejam em confronto com o funciona-
mento real da vida econômica.
A principal consequência prática da atitude intelectual que insiste em
encarar o mercado como imerso na vida social e não como esfera institucio-
nal autônoma (para utilizar os termos de Polanyi e Gorz) é que a ação
política terá que se dirigir não apenas às organizações do Estado e da socie-
dade civil, mas também à própria maneira como se estruturam e agem as
junho 2009 83
Vol21n1-d.pmd 83 7/7/2009, 17:11
Anticapitalismo e inserção social dos mercados, pp. 65-87
firmas. Não se trata de considerá-las domínios voltados exclusivamente aos
lucros, mas, ao contrário, de interferir em seu funcionamento e na maneira
como organizam os mercados em que atuam. O desafio central não está
apenas em alargar o campo de empresas explicitamente guiadas por justiça,
solidariedade e integração construtiva com os ecossistemas, e sim em fazer
com que esses valores guiem – sob o efeito da pressão social organizada – o
conjunto da vida empresarial. É um objetivo político que não tem o encan-
tamento da tomada do poder ou da ampliação da autonomia dos indiví-
duos com relação ao mercado; mas, ao mesmo tempo, é um meio de intro-
duzir a cultura, a justiça, a natureza, em suma, a política, em domínios que
a modernidade insiste, com sucesso cada vez menor, felizmente, em manter
separados de maneira rigorosa.
Referências Bibliográficas
AZNAR, Guy. (1995), Trabalhar menos para trabalharem todos. São Paulo, Scritta.
BATISTA, José Renato de Carvalho. (2006), “ ‘Não se pode servir a Deus e a Mammon’:
uma etnografia sobre os sentidos do dinheiro em ritos e festas do Candomblé”.
30º Encontro Anual da Anpocs, 24 a 28 de outubro. GT Sociologia Econômica.
BECKER, Gary. (1996), Accounting for Tastes. Cambridge, Harvard University Press.
BENKLER, Yochai. (2006), The Wealth of Networks How Social Production Transforms
Markets and Freedom. New York/Lonon, Yale University Press. (Disponível em
http://www.benkler.org, consultado em 25/07/2007.)
BERGER, Peter L. (1991), Perspectivas sociológicas : uma visão humanística. São Paulo,
Vozes.
BRUNI, Luigino & ZAMAGNI, Stefano. (2007), Civil Economy Efficiency, Equity, Public
Hapiness. Oxford, Peter Lang.
CARNEIRO, Marcelo S. (2005), “O dinheiro é verde? ONGs e empresas na construção
do mercado de madeiras certificadas na Amazônia brasileira”. 29º Encontro Anual
da Anpocs, 25 a 29 de outubro de 2005. GT Sociologia Econômica.
CASTRO, Ana Célia. (2007), “O catching-up do sistema agroalimentar brasileiro: fa-
tos estilizados e molduras conceituais”. 31º Encontro Anual da Anpocs, 22 a 26 de
outubro. Caxambu (MG). GT Sociologia Econômica.
CONROY, Michael. (2007), Branded! How the “Certification Revolution” is Transforming
Global Corporations. Gabriola Island (Canada), New Society Publishers.
DAHRENDORF, Ralf. (1991), Homo sociologicus: ensaio sobre a história, o significado e a
crítica da categoria de papel social. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro.
ELSTER, Jon. (1985), Making Sense of Marx. Cambridge, Cambridge University Press.
84 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 84 7/7/2009, 17:11
Ricardo Abramovay
FAVARETO, Arilson, ABRAMOVAY, Ricardo & MAGALHÃES, Reginaldo. (2007), “Direitos
de propriedade, eficiência econômica e estruturas sociais em um mercado de bens
culturais: o mercado de música brega no Pará”. 31º Encontro Anual da Associação
Anpocs. Caxambu (MG), 22 a 26 de outubro. GT Sociologia Econômica.
FLIGSTEIN, Neil. (2001), The Architecture of Markets: An Economic Sociology of Twenty-
First-Century Capitalist Societies. Princeton, Princeton University Press.
GEMICI, Kurtulus. (2008), “Karl Polanyi and the Antinomies of Embeddedness”. Socio-
Economic Review, 6: 5-33.
GORZ , André. (1974), “Leur écologie et la notre”. Disponível no site http://
www.verts92.net/spip.php?article441, consultado em 20/3/2009.
_____. (2003a), Metamorfoses do trabalho: crítica da razão econômica. São Paulo,
Annablume.
_____. (2003b), “Richesse, travail et revenu garanti”. Disponível no site http://
www.etatsgeneraux.org/economie/textes/gorz1.htm, consultado em 17/5/2006.
_____. (2005), O imaterial: conhecimento, valor e capital. São Paulo, Annablume.
_____. (2008), Écologica. Paris, Galilée.
GRANOVETTER, Mark. (1985), “Economic Action and Social Structure: The Problem
of Embeddedness”. American Journal of Sociology, 91: 481-510.
_____. (2005), “The Impact of Social Structure on Economic Outcomes”. Journal of
Economic Perspectives, 19 (1): 33-50, inverno.
HABERMAS, Jürgen. (1987), Teoría de la acción comunicativa I: racionalidad de la acción
y racionalización social. Madri, Taurus.
HOFFMAN, Andrew. (2001), From Heresy to Dogma: An Institutional History of Corporate
Environmentalism. Stanford Business Books.
HOMMEL, Thierry & GODARD, Olivier. (2001), “Contestation sociale et stratégies de
développement industriel: application du modèle de la Gestion Contestable à la
production industrielle d’OGM”. Cahier École Polytechnique, Laboratoire
d’Économétrie, nº 2001-15, http://ceco.polytechnique.fr/.
KARPIK, Lucien. (2007), L’économie des singularités. Paris, Gallimard.
LERNER, Josh & TIROLE, Jean (2002), “Some Simple Economics of Open Source”.
The Journal of Industrial Economics, 1 (2): 197-234.
LESSIG, Lawrence. (2001), The Future of Ideas: The Fate of the Commons in a Connected
World. Nova York/Toronto, Random House. (Disponível em http://the-future-
of-ideas.com, consultado em 02/4/2007.)
LOPES JÚNIOR, Edmilson. (2005), “Amor, sexo e dinheiro: uma interpretação socioló-
gica do mercado de serviços sexuais”. Política e Sociedade, 6: 165-193, abr.
NEGRI, Toni & CUOCO, Giuseppe. (2006), “Bolsa-família é embrião da renda univer-
sal”. Folha de S. Paulo, 5/1/2006, p. A3.
junho 2009 85
Vol21n1-d.pmd 85 7/7/2009, 17:11
Anticapitalismo e inserção social dos mercados, pp. 65-87
POLANYI, Karl. (1980), A grande transformação: as origens da nossa época. 3 ed. Rio de
Janeiro, Campus.
RIFKIN, Jeremy. (2004), O fim do emprego. São Paulo, M. Books do Brasil.
SINGER, Paul. (2002), Introdução à economia solidária. São Paulo, Fundação Perseu
Abramo.
STEINER, Philippe. (2000), “Marx et la sociologie économique”. Cahiers Internatio-
naux de Sociologie, CVIII: 57-77.
_____. (2006), A sociologia econômica. São Paulo, Atlas.
SUPLICY, Eduardo M. (2002), Renda de cidadania: a saída é pela porta. São Paulo,
Cortez.
SWEDBERG, Richard. (2003), Principles of Economic Sociology. Princeton, Princeton
University Press.
T OURAINE , Alain. (2005), Un nouveau paradigme: pour comprendre le monde
d’aujourd’hui. Paris, Fayard.
VAN PARIJS, Philippe. (1996), Refonder la solidarité. Paris, Cerf.
WEBER, Max. (1991), Economia e sociedade. Brasília, Editora da UnB, vol. 1 .
ZELIZER, Viviana A. (1997), The Social Meaning of Money: Pin Money, Paychecks, Poor
Relier, and Other Currencies. Princeton, Princeton University Press.
_____. (2004), The Purchase of Intimacy. Princeton, Princeton University Press.
Resumo
Anticapitalismo e inserção social dos mercados
O artigo estabelece uma comparação entre André Gorz e alguns dos mais importantes
autores da nova sociologia econômica. É verdade que se trata de um diálogo que nunca
ocorreu de maneira explícita. O que torna a comparação relevante, porém, é que ela
abre caminho para expor duas maneiras alternativas de encarar o tema sociológico
básico da inserção dos mercados na vida social. Para Gorz, mercado e sociedade civil
são termos antinômicos e não há tarefa política mais relevante que impedir a invasão,
a colonização da vida social e das relações afetivas pelo mercado. Já para a sociologia
econômica, ao contrário, os mercados estão completamente mergulhados na vida so-
cial, são por ela explicados e não podem ser considerados esferas institucionais autôno-
mas. Dessa diferença na maneira de conceber a relação entre economia e sociedade
decorrem consequências políticas fundamentais: para Gorz, as redes sociais que mar-
cam a expansão dos softwares livres representam, potencialmente, o início de uma so-
ciedade, não capitalista. Para a nova sociologia econômica, no próprio mercado é
possível encontrar redes sociais baseadas em laços não mercantis. Além disso, a inser-
ção social dos mercados convida a que a ação política se dirija não apenas ao setor
86 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 86 7/7/2009, 17:11
Ricardo Abramovay
público e associativo, mas também, e cada vez mais, à própria forma de se organizar o
setor privado.
Palavras-chave: Sociologia econômica; Creative commons; Esquerda; Emancipação social.
Abstract
Anticapitalism and the social insertion of the marketplace
The article pursues a comparison between André Gorz and some of the most impor-
tant authors from the new economic sociology. True enough, this dialogue never took
explicit form. What makes the comparison relevant, though, is that it enables the
exposition of two alternative ways of approaching the basic sociological theme of the
insertion of markets in social life. For Gorz, market and civil society are antinomic
terms and there is no more important political task than to prevent the invasion and
colonization of social life and affective relations by the marketplace. For economic
sociology, by contrast, markets are completely immersed in and explained by social
life, and cannot be considered as autonomous institutional spheres. This difference in
the way of conceiving the relationship between economy and society has fundamental
political consequences: for Gorz, the social networks involved in the expansion of free
software potentially represent the beginning of a non-capitalist society. For the new
economic sociology, networks based on non-commercial relations can be encountered
in the market itself. In addition, the social insertion of markets encourages political
action to be directed not only towards the public and associative sector, but also in-
creasingly the organization of the private sector itself.
Keywords: Economic sociology; Creative Commons; Left-wing; Social emancipation.
Texto recebido e apro-
vado em 24/3/2009.
Ricardo Abramovay é
professor titular do De-
partamento de Econo-
mia da FEA/USP, co-
ordenador de seu Nú-
cleo de Economia So-
cioambiental (Nesa) e
pesquisador do CNPq.
E-mail: abramov@usp.
br.
junho 2009 87
Vol21n1-d.pmd 87 7/7/2009, 17:11
A identidade como obra coletiva em
O Cortesão, de Baldassare Castiglione*
Valéria Paiva
*
Neste artigo procuramos compreender, através da análise da estrutura nar- Este artigo é uma ver-
rativa do clássico O Cortesão (1528), de Baldassare Castiglione, o sentido são revisada do segun-
do capítulo de minha
ao mesmo tempo ideal e normativo da dissimulação tanto para a “modela-
dissertação de mestra-
gem da identidade” individual, como para a preservação da identidade coletiva do defendida em de-
da aristocracia como grupo social1. zembro de 2005 no
Desde a publicação dos estudos hoje clássicos de Norbert Elias, sobre o Iuperj. Agradeço aos
processo civilizador e a racionalidade de corte, vem se consolidando cada professores Ricardo
Benzaquen de Araújo
vez mais nas ciências humanas um interesse na releitura dos tratados de
(Iuperj) e Cicero Ara-
comportamento considerados, até então, ou como simples manuais de eti- újo (DCP-USP), assim
queta ou como formulações idealistas e utópicas, para a compreensão do como aos pareceristas
modo de vida que caracterizou primeiro o Renascimento, depois o Barroco anônimos, pelas críti-
(cf. Pécora, 2001b). O próprio Norbert Elias, entretanto, não fornece mui- cas e sugestões a ver-
tas pistas para compreender a importância da dissimulação, seja para os sões anteriores deste
artigo.
atores que viveram o processo civilizador, seja para a formação da sociedade
moderna. Uma única vez, em O Processo Civilizador, o tema da dissimula- 1. O termo “modela-
gem da identidade” é
ção aparece explicitamente, e sob uma lente positiva, como necessário à
utilizado aqui empres-
manutenção da vida em “sociedades pacificadas”. Trata-se de uma conver- tado de Greenblatt
sa, relatada pelo autor, entre Eckermann e Goethe, em que Goethe censura (1984), para dar uma
o amigo por sua exigência de autenticidade na vida social, enfatizando o forma conceitual à ideia
aspecto benéfico e humano da moderação dos afetos2 (cf. Elias, 1994, p. de que, com o Renasci-
mento, a percepção de
48). Em A Sociedade de Corte, em que Elias se apoia principalmente nas
Vol21n1-d.pmd 91 7/7/2009, 17:11
A identidade como obra coletiva em O Cortesão, de Baldassare Castiglione, pp. 91-111
que a identidade indivi- Memórias de Saint-Simon para analisar o comportamento cortesão, a dissi-
dual era construída ad- mulação costuma aparecer, por sua vez, associada a uma perspectiva mora-
quiriu contornos insti-
lista em que o decoro, como o ajuste prudente do homem às circunstân-
tucionais (sobre esse
tema, ver também Gree- cias, contrasta com uma verdade psicológica nascente, cuja profundidade
ne, 1968). Segundo seria acentuada na personalidade romântica, e que viria a definir o sujeito
Louis Marin, assiste-se nos séculos XIX e XX (cf. Elias, 2001; Pécora, 2001b).
nesse momento históri- No contexto do século XVI, no entanto, a dissimulação relaciona-se a
co (seu exemplo é Mon-
um estilo, isto é, a uma forma ao mesmo tempo estética e moral através da
taigne) ao surgimento
do tema do reconheci-
qual os saberes e as virtudes eram atualizados em comportamentos social-
mento de si que se so- mente valorizados. Diferente do que estamos acostumados a pensar hoje, o
maria – e por fim o in- valor do conhecimento e das virtudes dependia então de sua representação
corporaria – ao tema para um público, e de seu reconhecimento e apreciação por um público.
clássico, platônico, do Estamos diante de um tipo de sociedade em que a visão se impunha como
conhecimento de si –
o órgão regulador do comportamento por excelência e em que a admiração
simbolizado pelo pre-
ceito délfico do “conhe- do outro era a recompensa do comportamento bem-sucedido. Essa era a
ce-te a ti mesmo”. O sociedade de corte. E fosse porque eram predominantes a linguagem falada
tema do reconhecimen- e a linguagem corporal sobre a linguagem escrita, isto é, porque as relações
to preserva o sentido sociais assumiam uma forma retórica; ou porque nesse tipo de sociedade
clássico do conhecer-se a
não havia uma esfera privada contraposta à esfera pública, tal como viemos
si mesmo como reco-
nhecimento de ser aque- a conhecer, e todas as pessoas estavam constantemente em presença de um
le que desde sempre me é outro, o tipo de virtudes e o modo de sua realização eram exclusivos ao
conhecido, mas aponta espaço público, dando-se através de ações dirigidas para um público, para
para um segundo senti- serem observadas e admiradas por um público (cf. Elias, 2001; Habermas,
do: o de se reconhecer na
1984).
exploração das frontei-
A separação entre o público e o privado tornou-se, no entanto, tão es-
ras, dos limites, desse lu-
gar reservado ao próprio sencial a nossa sociedade que não conseguimos mais imaginar uma organi-
reconhecimento. Se, no zação social destituída de uma esfera privada, quer dizer, “reduzida” a uma
primeiro caso, encon- esfera pública. A consequência disso é a tendência em desconsiderar, no
tramos um ideal de cul- estudo das sociedades de corte, a dimensão ideal e normativa inscrita nessa
tivo, por meio da imita-
busca coletiva por reconhecimento e admiração, operando como uma es-
ção, de uma herança e
de um patrimônio co- pécie de “hermenêutica do mal” que resume as aparências a determinações
mum relegados à huma- ou interesses ocultos (cf. Boltanski, 2000). Procuramos realizar neste artigo
nidade letrada, no se- um esforço na direção contrária.
gundo encontramos O livro de Castiglione nos permite seguir essa direção por apresentar a
um ideal de exploração
dissimulação como critério moral e estético para a ação. Escrito nas primei-
de um “eu” que se torna
“meu” no processo/per-
ras décadas do século XVI, dele sobressai, ainda, a dupla característica que
curso mesmo de explo- Elias identificou em O Processo Civilizador, nas obras de Erasmo e Della
Casa3. De um lado, o tema da dissimulação aparece sem o cerceamento e o
92 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 92 7/7/2009, 17:11
Valéria Paiva
controle moral típico aos séculos posteriores, quando a incorporação dos ração de lugares e limites
hábitos civilizados vai dotar certos comportamentos socialmente modela- desconhecidos (cf.
Marin, 1999).
dos de tamanha naturalidade que não será mais necessário falar sobre eles.
É o que acontece, por exemplo, no processo de controle da maior parte das 2. “Mas, nessa citação,
ele [Goethe] fala com
funções corporais. O mesmo se passa com a dissimulação, com a particula-
grande conhecimento
ridade de que se assiste, a partir da experiência da Reforma protestante, mas como homem do mun-
especialmente nos últimos dois séculos, a uma crítica ao excesso de artifício do, como cortesão, com
no comportamento social, sem deixar de pressupô-lo em alguma medida. base em experiências
O que podemos observar em O Cortesão é, contudo, precisamente o pro- que são estranhas a
cesso anterior, de valorização da dissimulação no comportamento aristo- Eckermann. Ele enten-
de a compulsão de aba-
crático. Por isso, de outro lado, é que o tratado de Castiglione permite
far os próprios senti-
entrever o sentido do processo civilizador. Para voltarmos a Goethe, não mentos, de suprimir
importa o que se diga, é necessário nos controlarmos e nos darmos bem simpatias e antipatias,
com os outros se temos que viver em sociedade (cf. Elias, 1994, p. 37). compulsão inerente à
Como fazer isso é, apesar da distância que nos separa, um dos temas cen- vida cortesã e que fre-
quentemente é inter-
trais do livro de Castiglione.
pretada por pessoas de
Falar dessa distância nos adverte para a provável permanência da dissi- situações sociais dife-
mulação como uma regra tácita de convivência social. Podemos perceber rentes e, por conseguin-
em um autor tão contemporâneo como Erving Goffman, por exemplo, a te, com uma diferente
importância que a “autoapresentação” seguiu tendo nas sociedades moder- estrutura afetiva, como
sendo desonestidade ou
nas. Goffman destaca-se por explicitar, em seu livro A Representação do Eu
insinceridade. E com
na Vida Cotidiana, que o tecido social se mantém não somente por critérios um grau de consciên-
de justiça, mas igualmente por aqueles de justeza, isto é, de uma adaptação cia que o distingue
sem atritos entre os atores sociais. Uma adaptação que, como o ideal de como um relativo estra-
Castiglione, parece espontânea, mas de fato é construída. Seria em alguma nho a todos os grupos
medida anacrônico, no entanto, pensar a sociabilidade renascentista nos sociais, ele enfatiza o
aspecto benéfico, hu-
termos de Goffman, a partir da metáfora da representação teatral. A metá-
mano, de sua modera-
fora teatral implica o “bastidor” como um “coespaço” social do “palco” e ção em afetos indivi-
indica uma cisão entre a identidade do ator e a identidade do personagem duais. Seu comentário
que dificilmente poderíamos identificar no estilo de representação renas- é um dos poucos pro-
centista (cf. Goffman, 1990, pp. 244-247). nunciamentos alemães
dessa época a reconhe-
A sensação de anacronismo produzida pela aproximação entre períodos
cer algo do valor social
históricos bastante distintos, sem as devidas mediações, obriga-nos a pensar da ‘cortesia’ e dizer al-
que O Cortesão, como qualquer outro livro, tem uma história. E que essa guma coisa positiva so-
história não deixa de ser o resultado de uma tradição que lhe era anterior e bre a habilidade social”
que, por sua vez, é incorporada em um processo de recepção ativa nos sécu- (Elias, 1994, p. 48).
los seguintes à sua publicação. Na medida em que adotamos uma perspec- 3. Peter Burke e Carlo
tiva hermenêutica, procurando desdobrar o significado que a dissimulação Ossola mostram o cará-
junho 2009 93
Vol21n1-d.pmd 93 7/7/2009, 17:11
A identidade como obra coletiva em O Cortesão, de Baldassare Castiglione, pp. 91-111
ter exemplar que o livro adquire especialmente em Castiglione, entender esse processo de recepção
assumiu, tornando-se ultrapassa os objetivos propostos neste artigo. Vale a pena, no entanto, re-
referência para a com-
meter pontualmente a algumas conclusões a que chega Peter Burke em seu
posição de muitos ou-
tros tratados de mesmo livro As Fortunas d’O Cortesão, em que o autor busca mapear – através da
tipo e servindo de base análise de edições, traduções, imitações e modificações incluídas no texto
para a criação, já a par- original de Castiglione – o sentido atribuído ao livro por “comunidades de
tir de meados do século leitores” com características sociológicas distintas.
XVI, de catálogos pres-
Durante o século XVI, O Cortesão teve em torno de sessenta edições em
critivos daquilo que se
consolidaria cada vez
italiano e, além das traduções, pode-se identificar a circulação das edições
mais como sendo “a” em italiano nas demais cortes europeias – especialmente na Espanha, na
cultura e “a” língua cor- França e na Inglaterra. Ao longo desse período, no entanto, o livro perde seu
tesã – uma espécie de caráter aberto, devido ao seu formato de diálogo, como veremos, para se tor-
listagem do conteúdo nar um livro de consulta, com índices analíticos e notas dos principais as-
que pautaria doravante
suntos e máximas. Depois do sucesso obtido no século anterior, no século
as conversações e a soci-
abilidade da aristocra- XVII se observa um declínio, segundo Burke, do interesse pelo livro de Cas-
cia de corte e depois, tiglione, que nunca mais teria a mesma recepção calorosa dos primeiros
em um sentido mais anos. O fortalecimento das monarquias absolutas aliado aos movimentos de
amplo, da honnête gens Reforma e Contrarreforma contribuíram para uma crítica moral, de fundo
(cf. Burke, 1997; Osso-
religioso, à dissimulação. Por um lado, no contexto da Reforma, assiste-se a
la, 1997). O clássico de
Giovanni Della Casa, o uma crítica da “cultura da representação” em prol de uma “cultura da since-
Galateo, muito citado ridade”, posteriormente recuperada com o Movimento Romântico no sécu-
no volume I de O Pro- lo XIX (cf. Burke, 1997, p. 124). Por outro lado, se O Cortesão chegou a ser
cesso Civilizador, pode, incluído no Index dos livros proibidos pela Inquisição, vê-se também o sur-
por exemplo, ser consi-
gimento de uma literatura de corte em relação à qual os conselhos de Casti-
derado em uma linha
glione pareceriam não cínicos, mas excessivamente francos diante do poder
de continuidade direta
com O Cortesão. absoluto dos príncipes. O pequeno tratado Da Dissimulação Honesta, do
italiano Torquato Accetto, é um exemplo dessa literatura de secretários de
príncipes que adquiriu importância ao longo do século XVII, em que a dis-
simulação adquire as cores sombrias do tacitismo e era justificada ao mesmo
tempo em termos religiosos e políticos, como estratégia de sobrevivência
nas cortes (cf. Míssio, 2004).
Apesar de O Cortesão não ter recebido nunca mais a mesma atenção
como a que se seguiu à sua publicação, é interessante notar, por fim, o
ressurgimento do interesse pelo livro no fim do século XVII e início do
século XVIII, ligado à “aristocratização” dos burgueses ricos, o que nos
daria pistas sobre a influência do modelo retratado por Castiglione nas so-
ciedades modernas (cf. Burke, 1997, pp. 147-148). É especificamente so-
bre esse modelo que nos debruçamos a seguir.
94 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 94 7/7/2009, 17:11
Valéria Paiva
O artigo está dividido da seguinte forma: na primeira parte (“O qua-
dro”), apresentamos aquilo que serve de mote ao mesmo tempo para a
composição do tratado e para o tipo de sociabilidade que o livro retrata: a
conversação como um jogo. Na segunda parte (“A moldura”), procuramos
qualificar melhor os constrangimentos estruturais da conversação – as re-
gras do jogo, por assim dizer – que informam a representação coletiva e a
apresentação individual de cada personagem. Na última parte (“O mode-
lo”), mostramos o significado central que a dissimulação adquire para o
modelo de cortesania proposto por Castiglione e para o tipo de sociabilida-
de de corte aqui apresentado.
O quadro
O tratado, como diz Castiglione no prólogo, foi escrito para seu amigo
Alfonso Ariosto (primo de Ludovico Ariosto, autor de Orlando Furioso),
que lhe havia pedido escrever sobre
[...] a forma de cortesania mais conveniente ao fidalgo que vive numa corte de
príncipes, de tal maneira que possa e saiba servi-los em tudo o que seja razoável,
conquistando as graças deles e os elogios dos outros; em suma, como deve ser
* A data entre colche-
aquele que mereça ser chamado de perfeito cortesão, para que nada lhe falte” ([1528]*
tes refere-se à edição
1997, p. 11, I, I)4.
original da obra e é
indicada na primeira
Para que nada falte ao perfeito cortesão, uma variedade de temas rela- vez em que a obra é
cionados com o saber viver de corte aparece e desaparece ao longo dos diá- citada. Nas demais, in-
logos e dos livros que compõem o tratado, testemunhando a competência dica-se somente a edi-
ção utilizada pelo au-
do autor em relação à cultura cortesã e humanística que lhe era familiar e às
tor (N.E.).
questões que então se impunham aos representantes “intelectuais” dessa
4.As citações de O
cultura: entre outras, a importância da origem familiar nobre (livro I); o
Cortesão seguirão sem-
debate sobre a institucionalização e a legitimidade da língua vulgar (livro pre esse mesmo pa-
I); a enorme gama de ditos, facécias e motes que serviam às conversações drão: como de costu-
mundanas (livro II); a questão feminina e a forma de amor conveniente aos me, o ano da edição
cortesãos (livros III e IV); a relação entre o cortesão e o príncipe (livro II, brasileira mais o núme-
ro da página em que
mas principalmente livro IV). Entretanto, a importância da obra para a
se encontra a citação,
compreensão de um modelo Renascentista de sociabilidade – e da reper- seguidos da indicação
cussão desse modelo no período das monarquias clássicas – está, com efei- em algarismos roma-
to, não somente relacionada com sua variedade de temas, mas também, e nos do livro e do capí-
principalmente, com a forma como os temas se apresentam, de um lado, e tulo da obra.
junho 2009 95
Vol21n1-d.pmd 95 7/7/2009, 17:11
A identidade como obra coletiva em O Cortesão, de Baldassare Castiglione, pp. 91-111
o modo como são costurados uns aos outros em função do objetivo propos-
to, de outro.
O que Alcir Pécora afirma a propósito do tratado Da Dissimulação Ho-
nesta, do secretário italiano Torquato Accetto, vale ainda mais para a obra de
5. “E porque vós nem
Castiglione: pois também Castiglione conquista para o seu tratado “o mes-
da senhora duquesa,
nem dos outros que mo estatuto, concomitantemente teórico e prático, do ‘cânone’ de Policleto,
morreram, exceto do referido por Plínio: uma estátua particular de uma figura humana que for-
duque Iuliano e do car- necia, igualmente, o padrão de proporcionalidade perfeita para toda figura
deal de Santa Maria em humana” (Pécora, 2001a, p. XII). Com o objetivo de forjar a figura do mais
Portico, tivestes notícia
perfeito cortesão, o que vemos se construir ao longo dos diálogos e dos li-
durante a vida deles,
para que, até onde pos-
vros que compõem o livro é uma imagem verossímil da perfeita sociabilida-
so, tenhais alguma de- de, representada em sua forma mais típica, a conversação. O “retrato de
pois da morte, mando- pintura” da corte de Urbino que sai das mãos de Castiglione é, em sentido
vos este livro como um metafórico, uma representação pictórica da sociabilidade também ela pen-
retrato de pintura da sada como representação5. Compreendida não como desempenho de múl-
corte de Urbino, não da
tiplas funções sociais, mas como apresentação de si: um modo de ser e de
mão de Rafael ou de
Michelangelo, mas de estar com o outro através do qual os sujeitos modelam sua identidade indi-
um reles pintor que so- vidual. Resulta daí uma espécie de causalidade circular: o padrão de propor-
mente sabe traçar as li- cionalidade perfeita, no caso a ideia – em seu sentido platônico, a imagem –
nhas principais, sem do mais perfeito cortesão, é o produto final, mas ao mesmo tempo o pressu-
adornar a verdade com
posto do modus operandi de sua produção. Se nos fosse possível imaginar
vagas cores ou fazer pas-
sar por arte da perspec-
esse “retrato de pintura”, veríamos o salão oval luxuosamente ornado, cená-
tiva aquilo que não o é“ rio do livro e das soirées organizadas pela senhora duquesa Elisabetta Gonza-
(Castiglione, 1997, p. ga com a ajuda de sua lieu-ténante e amiga Emilia Pia; veríamos os membros
5, “Dedicatória”). daquela corte – os seus personagens –, homens e mulheres, jovens e senho-
6.“Minha Senhora, res, muito bem-vestidos, sentados em círculo de forma intercalada; podería-
uma vez que lhe agra- mos supor, pelos gestos das figuras, que estivessem em qualquer conversa-
da que seja eu a come- ção amável típica a uma sociabilidade íntima e fraternal entre iguais; mas
çar os jogos desta noi-
com certeza não veríamos representada nessa cena a figura do perfeito corte-
te, não podendo sen-
satamente deixar de são, cuja presença como modelo, invisível aos nossos olhos, se faria sentir,
obedecer-lhe, decido no entanto, para todas as outras figuras inegavelmente.
propor um jogo pelo Não é, então, simplesmente por acaso que, depois de percorridos os
qual penso em receber lugares-comuns da retórica (Dedicatória, Prólogo, Elogio ao lugar, ao Se-
pouca censura e menos
nhor, apresentação do cenário etc.), encontramos, no início da narração
cansaço; ele consiste
em que cada um pro-
propriamente dita, o diálogo que determinará dali em diante toda a repre-
ponha segundo a sua sentação. Incumbida de dar início ao jogo que teria lugar naquela noite,
opinião um jogo ain- Emilia Pia engenhosamente propõe um que “[...] consiste em que cada um
da não realizado [...]” proponha segundo a sua opinião um jogo ainda não realizado [...]”6. O
96 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 96 7/7/2009, 17:11
Valéria Paiva
jogo escolhido, a saber, “modelar com palavras um perfeito cortesão”, tor- (Castiglione, 1997, p.
na-se assim o resultado de um “metajogo” que impõe ao tratado sua própria 18, I, VI).
chave hermenêutica (cf. Ossola, 1997). Por um lado, vários dos jogos pro- 7. Nas palavras de Carlo
postos retornam ao longo do livro, considerados agora, no entanto, à luz Ossola (1997, p. 69):
“S’agissant de limites, la
do jogo escolhido (sendo o discurso de Bembo sobre a loucura do amor
tradition en offrait ce-
sublime, ao fim do tratado, um exemplo disso). Por outro lado, recria-se e pendant de plus nettes,
impõe-se, através desse artifício, o espaço retórico – “fictício” – da palavra car ‘former par la parole
como o espaço propriamente reservado à formação e instrução do príncipe un courtisan parfait’ cor-
e do cortesão em sua relação com o príncipe7. respond, comme le no-
O fato de o jogo escolhido, “modelar com palavras um perfeito cortesão”, tait Cian, à l’‘oratione
fingere’ cicéronian; aussi,
ser ele mesmo o resultado de um jogo discursivo implica, assim, um espaço
c’est bien dans l’espace
específico, aquele da palavra e do discurso, no interior do qual o processo de fictif du discours que l’
modelagem da identidade se desenrola: “former par la parole” significa ne- institutio’ du prince
cessariamente nesse contexto “former dans la parole”. Mas uma segunda prendra sa place, place
consequência tão ou mais importante ainda se põe: a de que, se se trata de autorisée davantage par
le ‘genre littéraire’ que
modelar o mais perfeito cortesão narrativamente, a narrativa, isto é, o dis-
par l’ histoire, et fondée
curso mesmo, deve também ela se aproximar ao máximo do objetivo pro- sur un voeu conjuguant
posto: “former par la parole” e “dans la parole” significam igualmente, como perfection du cortisan et
afirma Ossola, “former à la perfection des paroles” (Ossola, 1997, p. 70). formation du prince
A garantia de se atingir o objetivo proposto no jogo escolhido se vincu- dans le cadre même des
hypothèses rhétoriques
la, com isso, à precondição que torna possível a escolha do próprio jogo,
du ‘dire’” (Tratando-se
uma espécie de sociabilidade perfeita: e “se em algum lugar existam ho- de limites, a tradição ofe-
mens que mereçam ser chamados de bons cortesãos e que sabem julgar recia no entanto [exem-
aquilo que compõe a perfeição da cortesania, com boas razões havemos de plares] mais claros, por-
pensar que aqui estejam” (Castiglione, 1997, p. 25, I, XII). A imagem do que ‘modelar com pala-
cortesão, por mais ideal que pareça e seja, não provém nesse contexto de vras um perfeito corte-
são’ corresponde, como
um idealismo descolado, digamos, das possibilidades de sua realização. Ao
o observava Cian, ao ora-
contrário, é somente porque e quando essas condições se tornaram muito tione fingere ciceroniano;
difíceis de serem cumpridas, ou passaram a ter que ser artificialmente cria- por isto, é bem no espa-
das, que o modelo de formação proposto por Castiglione se tingiu com as ço fictivo do discurso
cores de um idealismo, com o sentido pejorativo a partir do qual o enten- que a institutio do prínci-
pe terá seu lugar, lugar
demos hoje: do irrealizável, do faltoso. Tal como está posta no livro, no
autorizado mais pelo ‘gê-
entanto, a noção de ideal reflete antes uma dialética entre essência e aparên- nero literário’ do que
cia que se realiza nos termos próprios em que é concebida: com o objetivo pela história e fundado
de existir simplesmente enquanto Ideia. sobre um voto (desejo,
É precisamente a forma de diálogo-conversação, que estrutura o trata- promessa) conjugando
do, o que garante a verossimilhança dessa representação. Diferente do mo- perfeição do cortesão e
formação do príncipe no
delo platônico-socrático, em que um interlocutor é responsável por condu-
junho 2009 97
Vol21n1-d.pmd 97 7/7/2009, 17:11
A identidade como obra coletiva em O Cortesão, de Baldassare Castiglione, pp. 91-111
quadro mesmo das hi- zir a narrativa, as falas contraditórias e os diálogos aparentemente inconclusos
póteses retóricas do ‘di- se prestam, em O Cortesão, para a composição do quadro que se quer mos-
zer’”).
trar: o ideal pressuposto à conversação, e que ao mesmo tempo lhe trans-
cende, impõe-se apesar e através de um contínuo contradizer-se, como uma
espécie mesmo de pintura, cuja nitidez da imagem vai se delineando pouco
a pouco no jogo de cores e de luzes e sombras que dão vida e profundidade
aos traços de um desenho em branco e preto.
Contradizer não é, no livro, simplesmente uma espécie de resultado
“natural”, não intencionado, do jogo da sociabilidade. Ao contrário, trata-
se de uma postura explicitamente posta como regra do jogo escolhido:
E me seja perdoado se eu, devendo contradizer, perguntasse; pois creio que isso me
seja permitido, seguindo o exemplo do nosso dom Bernardo, o qual, por excesso de
vontade em ser considerado um belo homem, contrariou as regras do nosso jogo,
perguntando e não contradizendo. – Vede – disse a senhora duquesa – como de
um só erro procedem vários outros (Idem, p. 39, I, XXIII).
Se as falas contraditórias dos diferentes personagens servem, da perspec-
tiva da composição do tratado, para estabelecer uma correspondência entre
aquilo que se pretende representar e o modo de representação, de uma pers-
pectiva interna à representação a forma de diálogo inscreve o tratado em
uma longa tradição, tributária da Antiguidade Filosófica, permitindo retra-
tar um modelo de sociabilidade para o qual essa inscrição – como imersão
em uma cultura comum à humanidade – era um valor. O caráter lúdico da
sociabilidade que os diálogos refletem aponta um certo sentido de “celebra-
ção” que envolve, em seu modo de ser e de estar, homens e mulheres de
espírito. Celebração indica, aqui, uma espécie de limite simbólico (desdo-
brando-se em limites espaciais e temporais) que, como uma atividade ritual,
pontua a existência social desse grupo.
A noção de espírito ajuda a compreender o entrelaçamento sutil entre
ser e parecer – ambos situados no mesmo plano, o da aparência – que
marca a inscrição da sociabilidade renascentista na tradição antiga. Pois é
essa qualidade abstrata da alma, definida posteriormente por Voltaire como
“razão engenhosa”, que permite, em um sentido forte, fazer renascer em
outro contexto o que é visto como patrimônio comum da humanidade
letrada (cf. Fumaroli, 1998, p. 286). Não se trata, assim, da mera repetição
de lugares-comuns de um determinado repertório memoriável de obras e
de pensamentos clássicos então socialmente valorizados e capazes de distin-
98 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 98 7/7/2009, 17:11
Valéria Paiva
guir aqueles que o possuíam. Trata-se antes de uma verdadeira incorpora-
ção, no sentido de uma dupla apropriação, já que não somente a incorpora-
ção desse patrimônio pressupõe o espírito como qualidade da alma, mas
também contribui para renová-lo e fortalecê-lo. Ou, para recuperarmos o
ponto anterior, o espaço do discurso e da palavra se põe, para essa forma de
sociabilidade, como o meio pelo qual as identidades se modelam e, ao mes-
mo tempo, como o espaço em que esse modelo é celebrado. Por isso, “mo-
delar com palavras um perfeito cortesão” e modelá-lo no interior do espaço
fictício do discurso concorrem para a reafirmação do discurso como o espa-
ço por excelência a partir do qual a vida social é tecida. Essa é a chave
hermenêutica inaugurada com o artifício literário do “metajogo” a partir
do qual se inicia a narração.
Assim, a forma de diálogo-conversação com que Castiglione decide
8. “Assim, eram todas as
apresentar o seu ideal de cortesão se põe como essencial para a compreen- horas do dia divididas
são da importância de sua obra: é também um ideal de sociabilidade o que em honrados e agradá-
está sendo representado. Ou, seria possível dizer, trata-se também de um veis exercícios tanto do
jogo ideal: “Então, quase todos os presentes [...] começaram a dizer que corpo quanto do espíri-
to; mas, como o senhor
este era o mais belo jogo que se poderia realizar” (Castiglione, 1997, p. 25,
duque continuamente,
I, XII). por causa da doença, ia
dormir cedo, em geral
A moldura todos iam para onde es-
tivesse a senhora duque-
No capítulo IV do livro I, Castiglione nos introduz ao cenário em que se sa Elisabetta Gonzaga; e
lá sempre se encontrava
passará a ação representada, a conversação, estabelecendo seus limites tanto
a senhora Emilia Pia, a
em termos espaciais como em termos temporais8. O espaço em que se desen- qual, sendo dotada de
volve a conversação se delimitava, de um lado, pelos aposentos privados do tão viva engenhosidade
palácio e, de outro, pelos aposentos destinados ao exercício do poder e aos e inteligência, como
afazeres políticos (cf. Pons, 1991). Na rotina de atividades da corte, o tempo sabeis, parecia a mestra
de todos, e cada um lhe
destinado a essa atividade era o tempo do otium, em oposição ao do nego-
pedia opinião e estímu-
tium, o qual – por mais agradável que fosse – pressuporia, como pressupõe los. Destarte, ali, leves
sempre, necessariamente um fim e um objetivo que ultrapassaria a simples conversações e honestas
criação e reafirmação dos laços sociais. O caráter noturno da conversação, facécias eram ouvidas, e
como delimitação temporal do cenário da ação, adquire, no entanto, quan- no rosto de cada um se
via pintada uma jocosa
do pensado em relação à delimitação espacial, um significado maior do que
hilaridade, de tal modo
o que à primeira vista poderia parecer. Ele indica a ausência de um elemento que se poderia chamar
essencial à estrutura da corte e da sociedade de corte de maneira mais ampla, aquela casa de hotel da
pois o poder não se encontra aí representado. Se se tratasse somente de um alegria […]” (Castiglio-
momento de otium, mas diurno, provavelmente o excelentíssimo senhor ne, 1997, p. 16, I, IV).
junho 2009 99
Vol21n1-d.pmd 99 7/7/2009, 17:11
A identidade como obra coletiva em O Cortesão, de Baldassare Castiglione, pp. 91-111
Guid’Ubaldo, apesar dos males da gota, estaria presente, como o próprio
Castiglione relata que ele o fazia. Mas a doença o impedia, no entanto, de
participar precisamente dessas reuniões noturnas organizadas nos aposentos
da senhora Elisabetta Gonzaga.
Com efeito, a conversação é, como uma forma pura de sociabilidade, o
jogo social por excelência, posto que aí qualquer interesse ou preocupação
que desvie a atenção da sociabilidade em si deve ser deixado de lado (cf.
Simmel, 1971). Mas é um jogo cuja estrutura exige uma certa igualdade de
condições entre seus participantes. Se, por um lado, a ausência do poder
abre espaço para que seja modelado um cortesão cuja honra e dignidade
são frutos não do servilismo, mas da qualidade e da independência de seu
espírito, essa ausência se faz, por outro lado, necessária ao modelo de soci-
abilidade sustentado na obra.
Impõe-se assim, mais uma vez, mas agora em outro plano, a relação
entre o ideal do perfeito cortesão e o ideal da perfeita sociabilidade. Trata-
9. “[...] e não creio que se, como é possível perceber, de um tipo de modelagem da identidade que
noutro lugar se apre- depende de a conversação se desenrolar em um ambiente de equilíbrio e
ciasse toda a doçura que
harmonia, que a presença do poder poderia pôr em risco. Se o poder fosse
deriva de uma querida
e amada companhia,
representado como uma vontade soberana que se destaca e se sobrepõe às
como ali aconteceu um demais vontades, ele teria como efeito romper essa espécie de corrente que,
dia; pois, à parte a hon- segundo Castiglione, era então capaz de unir a todos no mesmo sentimen-
ra que era para cada um to comum9. Ao contrário, representada como está em O Cortesão, a vonta-
de nós servir a um se- de soberana simboliza e legitima, ao invés de deslegitimar, as vontades indi-
nhor como aquele que
viduais que, em concordância umas com as outras, se entrelaçam de tal
descrevi acima, nascia
no ânimo de todos um forma que se poderia dizer haver ali uma única e só vontade.
imenso contentamento Nesse sentido, é interessante notar que o vocábulo conversação (conver-
todas as vezes que nos satio) adquire no século XVI, com Castiglione e, depois, com Stefano Guazzo
reuníamos com a se- (autor do livro A Conversação Civil, de 1574), uma conotação que, mesmo
nhora duquesa; e pare-
incorporando a tradição retórica latina, de Cícero principalmente, e sendo
cia que esse contenta-
mento criava uma cor- influenciada pela teoria aristotélica, se apresenta com um novo sentido.
rente de amor que a tal Esse sentido está relacionado não somente com o cultivo da palavra e das
ponto unia a todos, que letras e com o decoro relativo ao discurso, mas também com o estar junto e
jamais existiu concór- com o decoro necessário às relações sociais, aos gestos, às atitudes, aos olha-
dia de vontade ou amor
res, às vestimentas, à postura de estar (sentir e se saber) imerso em um
cordial entre irmãos
maior do que aquela
grupo seleto e homogêneo. Conversação, assim como muitas outras pala-
que ali existia entre to- vras que partilham do mesmo prefixo latino “cum-” (como conveniência,
dos” (Castiglione, 1997, convívio, comércio, consonância etc.), assume nesse período uma significa-
p. 16, I, IV). ção sociológica de cooperação social que se caracteriza e poderia ser com-
100 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 100 7/7/2009, 17:11
Valéria Paiva
preendida pela noção de harmonia musical, tomando a música como um 10.Como afirma Fu-
modelo transcendental (cf. Fumaroli, 1998, p. 293). maroli, o termo conver-
satio não existia no vo-
É precisamente essa estética capaz de insinuar uma harmonia “preestabe-
cabulário ciceroniano,
lecida”, característica de um ideal de sociabilidade baseado na concórdia das e os termos que lhe se-
vontades individuais, que encontramos em O Cortesão. Não sem razão, esse riam mais ou menos
ideal, assim como o do cortesão, se revestiu para nós de um idealismo no sen- equivalentes são sermo
tido depreciativo desse termo. A própria conversação vai, ao longo dos sécu- e colloquium (cf. 1998,
p. 289).
los XVII e XVIII, perdendo o caráter naturalmente harmônico que a carac-
terizou típico-idealmente no período renascentista. Mantendo puramente 11. “L’interlocuteur du
sua configuração formal – determinada, por um lado, por uma espécie de sermo cicéronien, tel
qu’il apparaît dans ses
“decoro forçado” e, por outro, pela repetição mecânica e não espirituosa dos
dialogues, est l’orateur
lugares-comuns da antiguidade clássica –, a conversação se aproximará de du Forum, mais dans
um coquetismo literário, cujo fim o surgimento da literatura propriamente son loisir. Il n’y renonce
dita, isto é, da literatura escrita, ajudará a consolidar (cf. Idem). pas à son auctoritas, à ses
Se a conversação adquiriu no século XVI um sentido sociológico distin- vertus: la conversation
de loisir cicéronienne est
to, para o que a instituição do próprio vocábulo em língua vulgar contri-
encore de la vie civique
buiu, isso se deu a partir do acréscimo de uma nova camada de significado et active, continuée par
ao sermo ciceroniano, cujo estilo permaneceu, no entanto, para esse discur- d’autres moyens dans
so, como modelo retórico10. Um modelo que estava de acordo com a “urba- une retraite provisoire.
nidade” fraternal e amigável entre os pares da “boa sociedade” em seus La parole y est soumise
aux mêmes règles de
momentos de convivência na corte destinados não ao convencimento, através
clarté, à la même métho-
de uma oratória eloquente, mas ao esclarecimento mútuo, mediante o diá- de rhétorique qui con-
logo. Como afirma Fumaroli: siste à chercher la sagesse
(verité et bonheur) en
O interlocutor do sermo ciceroniano, tal como aparece nos diálogos, é o orador do prenant appui sur la
Fórum, em seus momentos de lazer. Ele não renuncia a sua auctoritas, a suas virtu- doxa, sur les lieux com-
muns qui sont le parta-
des: a conversação do lazer ciceroniano é também ao redor da vida cívica e ativa,
ge de tout les hommes,
continuada por outros meios num retiro provisório. A palavra submete-se aí às et d’abord de tout les
mesmas regras de clareza, ao mesmo método retórico que consiste em procurar a Romains. La différence
sabedoria (verdade e felicidade) buscando apoio sobre a doxa, sobre os lugares- entre eloquentia et sermo,
comuns que são a partilha de todos os homens e, em primeiro lugar, de todos os chez Cicéron, n’est pas de
méthode, mais de condi-
Romanos. A diferença entre eloquentia e sermo, em Cícero, não é de método, mas
tion d’exercice: ici, une
de condição de exercício: no primeiro, uma vida ativa e pública, a relação do ora-
vie active et publique, le
dor com um grande auditório que ele quer conquistar; no segundo, uma vida rapport de l’ orateur à un
contemplativa e privada, o otium, e a relação do interlocutor com seus pares que large auditoire qu’il lui
são seus amigos e que cooperam de boa vontade para o esclarecimento comparti- fait conquérir; là, une vie
lhado, em estilo simples e natural, das questões de interesse genericamente huma- contemplative et privée,
l’otium, et le rapport de
no (Idem, p. 290)11.
junho 2009 101
Vol21n1-d.pmd 101 7/7/2009, 17:11
A identidade como obra coletiva em O Cortesão, de Baldassare Castiglione, pp. 91-111
l’ interlocuteur avec ses O estilo simples e natural, também chamado de “aticismo ciceroniano”,
pairs qui sont ses amis et afasta-se de um maneirismo que “peca” pelo excesso de ornamento, mas se
qui coopèrent volontiers
afasta igualmente do estilo simples, de matriz estoica, do “aticismo sene-
à l’ éclaircissement en
commun, en style sim- quiano”, que conheceu uma enorme repercussão no século XVII – princi-
ple et naturel, des ques- palmente na Espanha e nas regiões sob sua influência. Apesar de os dois
tions d’intérêt générale- estilos serem “simples”, o “aticismo senequiano” caracteriza-se por uma bre-
ment humain”. vidade, uma agudeza e uma obscuridade que em muito o distanciam da
12.“Eis o estado dessa elegância harmoniosa, da clareza e da naturalidade típica ao modelo cicero-
grande máquina do niano. O estilo simples de matriz estoica privilegia mais o movere que o
mundo, a qual, para a delectare (ou melhor: privilegia o delectare em função do movere) e, entre as
saúde e conservação de
qualidades necessárias a todo bom orador, antes o entendimento, ao qual
toda coisa criada, foi
produzida por Deus. O ele submete a memória, que o juízo, entendido como “bom gosto”, uma
céu redondo, adornado disposição natural (um “não sei o quê”) que permite que o orador se ponha
com tantos lumes divi- de acordo com as circunstâncias, os assuntos, as pessoas. Como é o caso no
nos, e no centro a terra aticismo ciceroniano.
circundada pelos ele-
O caráter cerimonial implicado por uma civilidade constantemente
mentos e sustentada
por seu próprio peso; o atuante em todo o conjunto da vida social faz com que a adaptação às
sol, que girando ilumi- aparências e às suas circunstâncias seja uma norma social válida para toda
na tudo e, no inverno, sociedade de corte entendida como um tipo. Trata-se de uma condição
se acerca do signo mais sine qua non de uma sociedade cuja estrutura de possibilidades de prestí-
baixo, depois, pouco a
gio e poder se define pela performance pública, no convívio constante com
pouco ascende do outro
lado; a lua, que dele re-
os outros e aos olhos de outros. Isso significa que, independentemente
tira sua luz, conforme se do modelo retórico a que estejamos nos referindo, esse modelo se atuali-
aproxima ou se afasta; e za em um espaço regido pelo princípio da conveniência, isto é, pela adap-
as outras cinco estrelas tação. Entretanto, a conveniência ciceroniana tem um significado que
que seguem o mesmo modula essa adaptação em um sentido específico: estar de acordo com as
curso de maneiras dife-
pessoas, os lugares, os assuntos e as circunstâncias é, nesse contexto, se
rentes. Estas coisas têm
tanta força pela harmo- modelar e se relacionar com os outros e com o mundo a partir da convic-
nia de uma ordem com- ção de que a linguagem, mas também a natureza, o corpo humano, as
posta de maneira tão artes são dotados e compartilham de uma mesma racionalidade interna e
determinante que, se orgânica. É estar de acordo com uma espécie de modelo exterior e supe-
fossem mudadas num
rior que organiza o todo em sua multiplicidade e em sua constante varia-
ponto, não poderiam
ficar juntas e levariam o
bilidade, dotando-o de ritmo e beleza: “Estas coisas têm tanta força pela
mundo à ruína; têm harmonia de uma ordem composta de maneira tão determinante que, se
ainda tanta beleza e gra- fossem mudadas num ponto, não poderiam ficar juntas e levariam o
ça que as inteligências mundo à ruína; têm ainda tanta beleza e graça que as inteligências hu-
humanas não podem manas não podem imaginar coisa mais linda” (Castiglione, 1997, p. 323,
imaginar coisa mais lin-
IV, LVIII)12.
102 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 102 7/7/2009, 17:11
Valéria Paiva
Essa espécie de modelo exterior e superior pode certamente ser mais da. Pensai também na
bem compreendida quando consideramos, com Cícero, que existe por trás figura do homem, que
pode ser considerado
das atividades humanas uma ideia perfeita – no sentido de plena, acabada –
um pequeno mundo,
daquela atividade: no qual se vê cada parte
do corpo ser composta
Eu coloco em princípio que não há nada, de nenhuma espécie, de tão belo que não necessariamente com
seja inferior em beleza àquilo de que ele é apenas o reflexo, como o retrato de um arte e não ao acaso, e
todo o conjunto resulta
rosto, àquilo que nem os olhos nem os ouvidos nem nenhum sentido podem per-
por fim belíssimo; a tal
ceber, e que nós não atingimos senão pela imaginação e pelo pensamento” (Cícero,
ponto que seria difícil
apud Fumaroli, 2002, p. 55)13. julgar que utilidade ou
graça possam dar ainda
Tanto a figura do cortesão como a imagem da sociabilidade da qual ela ao rosto e ao restante do
se origina só adquirem sentido quando entendemos que a verdadeira per- corpo todos os mem-
bros, os olhos, o nariz, a
feição não se encontra nelas mesmas, mas na ideia que elas refletem em
boca, a orelha, os braços,
ato: pois a perfeição consiste justamente em assinalar uma outra que a o peito e as demais par-
transcende “e que apenas se conhece como desejo” (Pécora, 2001b, p. 73). tes” (Castiglione, 1997,
Ora, mas essa perfeição, que se conhece apenas como desejo, como vonta- p. 323, IV, LVIII).
de ou, como em vários momentos afirma Castiglione, como uso e costu- 13.“Je pose en principe
me, encontra uma única via para se realizar: quando, adaptando-se às cir- qu’il n’y a rien, dans
cunstâncias, o sujeito se põe em harmonia com a variabilidade que existe aucun genre, de si beau
qui ne soit inférieur en
no mundo, a partir de um juízo que ele é capaz de formar a respeito da
beauté à ce dont il n’est
ideia de alguma coisa. Nesse sentido, como foi afirmado anteriormente, que le reflet, comme le
trata-se de uma dialética entre essência e aparência que se realiza nos pró- portrait d’un visage, à
prios termos em que é concebida ou, como afirmou Erwin Panofsky, esse ce que ni les yeux ni les
é o círculo vicioso que está no coração da concepção clássica da arte: “O oreille ni aucun sens ne
vaivém das ideias ao mundo natural e do mundo natural às ideias” peuvent percevoir, et
que nous n’embrassons
(Panofsky, apud Pons, 1991, p. XIX)14.
que par l’imagination et
É igualmente nesse contexto que a conversação tem lugar: os perso- la pensée”.
nagens do livro e dos diálogos são, também eles, representantes dessa
14.“Le ‘va-et-vient des
variabilidade que poderíamos encontrar em todos os níveis das ativida- idées au monde naturel
des e dos fenômenos humanos, e em cada ser humano em particular15. et du monde naturel
Cada um dos personagens do livro tem um juízo próprio sobre como aux idées’”.
deve ser aquele a que se deva chamar de perfeito cortesão (cf. Castiglio- 15.“Os oradores tam-
ne, 1997, p. 27, I, XIII)16. Mais: cada personagem é representativo da bém tiveram sempre
“profissão da cortesania” e, diferentes entre si, todos deixaram, no entan- tanta diversidade entre
to, um nome gravado na história (cf. Pons, 1991, p. XIV). Com efeito, si que toda época pro-
duziu e apreciou um
não há, como tradicionalmente nos diálogos platônicos, um personagem
tipo de oradores pecu-
encarregado de conduzir os demais em direção à verdade; e também não
junho 2009 103
Vol21n1-d.pmd 103 7/7/2009, 17:11
A identidade como obra coletiva em O Cortesão, de Baldassare Castiglione, pp. 91-111
liar daquele período; os se trata de oradores, diante de um auditório, buscando demonstrar algo
quais foram diferentes para um público ou convencê-lo. A ideia do perfeito cortesão é construí-
não só dos predecesso-
da pouco a pouco sobre um consentimento que emerge não da unanimi-
res e sucessores, mas
também entre si, como dade das posições, mas através de um contínuo contradizer-se. Em oca-
se garante foram Isócra- siões específicas, as contradições se resolvem com a autoridade de algum
tes, Lísias, Ésquines e personagem particular capaz de exprimir o sentimento geral de um gru-
muitos outros entre os po que, no entanto, já se encontrava de antemão em harmonia. Muitas
gregos, todos excelen-
vezes, ainda, as contradições não se resolvem, mas mesmo assim segue-se
tes, mas similares cada
um a si próprio. Entre os
adiante sob a ordem, seja da senhora duquesa, seja da senhora Emilia
latinos, mais tarde, Car- Pia, de não parar simplesmente o jogo sobre um único ponto, com o
bone, Lélio, Cipião risco de aí se perderem e de não chegarem nunca ao objetivo proposto
Africano, Galga, Sulpí- (cf. Castiglione, 1997, p. 61, I, XXXIX).
cio, Cota, Graco, Mar- Quando se considera, de uma perspectiva interna à representação, a fun-
co Antônio, Crasso e
ção que a contradição desempenha nos diálogos de O Cortesão, ressalta-se
tantos que seria demais
nomear, todos bons e que se trata menos de uma contradição entre ideias – ainda que, com efei-
bem diferentes um do to, a conversação reflita um debate no plano das ideias – do que entre as
outro. De modo que pessoas “reais” que compartilhavam o ambiente mundano daquelas con-
aquele que pudesse consi- versações noturnas17. Isso ocorre porque as pessoas-personagens retratadas
derar todos os oradores
por Castiglione são dotadas de tamanha realidade que muito dificilmente
que existiram no mundo
encontraria tantas ma- se poderia dizer que elas estejam ali apenas para exercer seu papel mecani-
neiras de dizer quantos camente, como marionetes em um teatro de palavras armado para nos fazer
oradores houvesse” (Cas- conhecer a vontade de um diretor abscôndito. Ao contrário, apresentadas
tiglione, 1997, p. 59, I, com tanta vida, qualquer leitor é certamente capaz de senti-las como reais,
XXXVII, grifos meus).
de se afeiçoar a elas, de percebê-las individualmente – se não pela coerência
16. “Todavia considero de suas intervenções, por sua maneira individual de manifestar humor, por
que cada coisa tem a sua suas preocupações mundanas particulares, por seu jeito próprio de se apre-
perfeição, mesmo quan-
sentar. Nesse sentido elas representam a diversidade e a variabilidade que
do oculta, e que esta
pode ser julgada com existe no mundo, pois eram e foram representadas como eram: realmente
discursos razoáveis por diferentes umas das outras, ainda que compartilhassem um mesmo ideal
quem dela souber. E que todas procuravam encarnar.
porque, como disse, Em comparação com os personagens modernos e em relação aos leitores
muitas vezes a verdade
modernos, os personagens de O Cortesão são reais, no entanto, em um sen-
está escondida e não me
vanglorio de ter tal co-
tido específico: como pessoas de um discurso retórico, simples e natural,
nhecimento, não posso mas não como personagens-indivíduos reconhecidos como tais a partir de
louvar senão aquele tipo uma existência internamente rica, produto de um desenvolvimento pes-
de cortesão que mais soal. No sentido em que consideramos hoje e que, segundo Erich Auerbach,
aprecio e aprovar aquilo a tradição hebraica comumente considerou, delas não se pode dizer que
que me parece mais se-
sejam reais, pois não têm, no mesmo sentido em que não o têm as persona-
104 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 104 7/7/2009, 17:11
Valéria Paiva
gens homéricas, profundidade (cf. 1976, pp. 4-5). Durante a representa- melhante ao verdadeiro,
ção, os personagens encontram-se o tempo todo, em atos e pensamentos, segundo meu pouco
juízo: o qual podereis
no mesmo cenário, isto é, no mesmo ambiente simbólico e no mesmo uni-
adotar, caso vos pareça
verso de ação. Estão situados sempre em um único plano, o da aparência: bom, ou permanecer
do discurso em palavras e em gestos. E em momento algum, a partir da com o vosso, se for dife-
hora em que se inicia a narração propriamente dita, eles se retiram ou nós, rente do meu. E nem in-
leitores, somos retirados por qualquer motivo desse cenário e desse plano – sistirei em que o meu
seja melhor que o vosso;
do tempo presente vivido em conjunto pelos personagens. Um presente
pois não somente a vós
passível de ser fixado em uma imagem, em um “retrato de pintura”. pode parecer uma coisa
É precisamente nesse sentido que elas são sem profundidade. Mesmo as e a mim outra, mas a
contradições não servem, aqui, para produzir rupturas e/ou dobras no pla- mim próprio poderia
no narrativo, para instaurar um processo subjetivo perspectivista ensejando parecer ora uma coisa,
o surgimento de um segundo plano – não palpável, não acabado, não visí- ora outra” (Castiglione,
1997, p. 27, I, XIII).
vel – que permitiria a emergência de cada personagem a partir de sua
historicidade pessoal, de seus dramas e de suas felicidades. Antes, aliás, é 17.Como afirma Alain
Pons: “Et il (le jeu) n’y
função das contradições reunir as perspectivas diversas dos vários persona-
parviendra que collecti-
gens sob o modelo ideal que está sendo coletivamente construído, permi- vement, dans l’exercice
tindo o desenrolar do jogo. de son activité principa-
O que Auerbach constata acerca da representação homérica da realida- le, la conversation, avec
de pode, com algum cuidado, ser aplicado neste caso, pois também aqui sa oralité suppose de
spontanéité, de contact
encontramos um relato que parece ter como intenção atingir o leitor atra-
direct et même d’affron-
vés de um encantamento sensorial em relação não a um personagem ou a tement entre des person-
uma ideia, mas a um modo de vida: “a alegria pela existência sensível é nes et non simplement
tudo para eles, e a sua mais alta intenção é apresentar-nos essa alegria” entre des idées” (1991, p.
(Idem, p. 10). O relato “do mais belo jogo que se poderia realizar” é, como XVI, grifos meus).
já foi apontado, a apresentação de uma forma específica de sociabilidade,
baseada na concórdia das vontades individuais e na harmonia, e essa apre-
sentação é igualmente um momento de celebração. Não há um jogo,
como afirma Pons, mais bonito, mas também mais difícil do que este, o de
apresentar a si mesmo: “la cour (se) parle”, e o faz coletivamente (cf. Pons,
1991, p. XVII).
O modelo
A forma de diálogo-conversação mostra-se essencial, como vimos, para a
compreensão do modelo de sociabilidade que está sendo representado no
tratado, mas a contradição, como o modo pelo qual os diálogos e os diversos
temas são costurados uns aos outros, é igualmente importante: ela é o artifí-
junho 2009 105
Vol21n1-d.pmd 105 7/7/2009, 17:11
A identidade como obra coletiva em O Cortesão, de Baldassare Castiglione, pp. 91-111
cio literário que garante o caráter coletivo da tarefa de “modelar com pala-
vras um perfeito cortesão” e, assim fazendo, de a corte apresentar a si mes-
ma. Trata-se muitas vezes, com efeito, de uma aparente contradição, pois a
consonância da vontade e das opiniões já está de antemão dada. Ao contrá-
rio do que seria possível imaginar, o resultado desse contínuo contradizer-se
não é, assim, produzir uma ruptura na narrativa, mas servir como uma es-
pécie de elo entre as falas. Ao final, o que resta é um sentimento, uma deter-
18.Para Carlo Ossola,
minada imagem com a qual seguimos em frente – nós com a leitura, eles
a regra do “contradi- com o jogo –, ao mesmo tempo em que se cria, com esse artifício, o efeito de
zer” que rege o jogo de naturalidade necessário a uma conversação urbana e íntima entre os pares
“modelar com palavras de uma elite aristocrática que compartilhavam, também, o direito de dis-
o perfeito cortesão” se cordar entre si, amigavelmente18.
conjuga como uma es-
A importância da contradição ultrapassa, no entanto, sua utilidade e
pécie de filosofia da
história, com que Cas- beleza como artifício literário para revelar aquilo que definirá, em sua es-
tiglione abre o livro II, sência, o modelo de cortesania proposto por Castiglione: “dosar com graça
definindo para o corte- suas atividades, gestos, hábitos, em suma, cada movimento” (1997, p. 39,
são um tipo de existên- I, XXIV). Se, da perspectiva da composição do tratado, ela é um elemento-
cia paradoxal, fundado
chave do processo narrativo, cujo estilo permite apresentar como natural
em opostos, mas por
isso mesmo de acordo um modelo específico de sociabilidade e de conversação capaz de encantar
com a própria ordem e, com isso, produzir efeito de realidade, de uma perspectiva interna ao tra-
do cosmos (cf. Osso- tado a contradição torna-se ao mesmo tempo preceito normativo e critério,
la, 1997, p. 100). Se- estético e moral, para a ação.
gundo Castiglione, al-
A graça é, para o ideal de cortesão apresentado no livro, uma espécie de
guns “gostariam que
no mundo houvesse
adjetivo de todos os adjetivos, ou, como afirma Castiglione, o “condimento
todos os bens, sem de todas as coisas, sem o qual todas as outras propriedades e boas condições
nenhum mal, o que é se tornam de pouco valor” (Idem, p. 40, I, XXIV, grifos meus). E a fonte da
impossível, pois, sen- graça encontra-se justamente na capacidade de, ao adaptar-se às circunstân-
do o mal contrário ao cias, o cortesão ordenar a si mesmo de tal forma que o seu discurso, os seus
bem e o bem ao mal,
movimentos, os seus gestos conjuguem ao mesmo tempo perfeição da téc-
é quase necessário pela
oposição e por um cer- nica e naturalidade. Dissimulando o cuidado com tudo o que diz ou faz –
to contrapeso que um através da simulação de uma certa displicência –, o cortesão alcança, no pla-
sustente e fortifique o no pessoal, a mesma harmonia e equilíbrio característico à ideia da perfeita
outro e, faltando ou sociabilidade, exibindo, também em relação ao próprio comportamento,
aumentando um deles,
esse triunfo da naturalidade que foi sempre capaz de distinguir a “verdadeira
falte ou cresça o outro,
porque nenhum con-
nobreza” (cf. Pécora, 2001b, p. 73).
trário existe sem o seu Como afirma Alain Pons (1991), foi um grande mérito de Castiglione
oposto” (Castiglione, ter sido capaz, se não de definir, ao menos de enunciar as condições formais
1997, p. 86, II, II). de manifestação da “graça”, essa qualidade do comportamento que parece
106 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 106 7/7/2009, 17:11
Valéria Paiva
guardar – e provavelmente guarda – sempre algo – um “não sei o quê” –
conceitualmente inapreensível:
Mas, tendo eu várias vezes pensado de onde vem essa graça, deixando de lado
aqueles que nos astros encontraram uma regra universal, a qual me parece valer,
quanto a isso, em todas as coisas humanas que se façam ou se digam mais que
qualquer outra, a saber: evitar ao máximo, e como um áspero e perigoso escolho, a
afetação; e, talvez para dizer uma palavra nova, usar em cada coisa uma certa
sprezzatura (displicência) que oculte a arte e demonstre que o que se faz e diz é feito
sem esforço e quase sem pensar. É disso, creio eu, que deriva em boa parte a graça,
pois das coisas raras e bem feitas cada um sabe as dificuldades, por isso nelas a
facilidade provoca grande maravilha; e, ao contrário, esforçar-se, ou, como se diz,
arrepelar-se, produz suma falta de graça e faz apreciar pouco qualquer coisa, por
maior que ela seja. Porém, pode-se dizer que é arte verdadeira aquela que não
parece ser arte; e em outra coisa não há que se esforçar, senão em escondê-la
(Castiglione, 1997, p. 42, I, XXVI).
Ora, mas mesmo a condição formal para a manifestação da graça, vê-
se, é também ela, no entanto, de difícil apreensão. Melhor: podendo ser
entendida, é difícil de ser aplicada, pois não se trata de nenhuma opera-
ção mensurável ou calculável sobre o comportamento social capaz de
assegurar de antemão o sucesso da ação. O par de opostos que caracteriza
a condição paradoxal da sprezzatura – mostrar, esconder ou simular, dis-
simular – insinua necessariamente a contradição implícita à busca da
19.“Já que desejais que
perfeição sem esforço, com o risco constante de se desfazer em um com- o diga, falarei ainda de
portamento desmedido ou afetado19. A contradição precisa, no entanto, nossos vícios. Não vos
manter-se – ou, como afirma Castiglione, é necessário “atingir determi- dais conta que isso, que
nados limites sem os superar” – e, ainda que disso resulte um equilíbrio em dom Roberto cha-
mais de displicência,
precário, é precisamente daí que emerge o efeito natural almejado com
não passa de afetação?
essa representação (cf. Idem, p. 193, III, V). Porque, se vê claramen-
Nesse sentido, a adaptação às circunstâncias se põe para a sociabilidade te, ele faz esforços para
renascentista não somente como uma norma, a da conveniência, mas igual- mostrar não pensar nis-
mente como um ideal: um ideal de equilíbrio entre representação e apresen- so, e isso já é pensar de-
tação, de um ornamento – ou condimento, para usar o termo de Castiglione – mais; e, como supera
certos limites media-
usado com prudência e moderação sob o risco de cancelar o efeito de verdade
nos, tal displicência é
da representação e, com isso, pôr a perder as qualidades pelo modo de afetada e cai mal” (Cas-
apresentá-las, tornando pouco apreciável qualquer coisa que seja – por me- tiglione, 1997, p. 43, I,
lhor que ela seja. XXVII).
junho 2009 107
Vol21n1-d.pmd 107 7/7/2009, 17:11
A identidade como obra coletiva em O Cortesão, de Baldassare Castiglione, pp. 91-111
Se a conversação pode, em certo sentido, ser considerada a tradução do
estilo simples e natural ciceroniano, adequado ao sermo e ao colloquium, em
um modelo de sociabilidade, o vocábulo novo criado por Castiglione se
põe como a tradução desse estilo para o plano do comportamento – para o
que diz respeito à modelagem da identidade individual. Também nesse
ponto, como afirma Alain Pons, a retórica antiga “abriu os olhos de
Castilgione”: em Orador, referindo-se ao estilo simples ou ático, Cícero
escreve que “Existe também certa negligência diligente. Com efeito, como
se diz de algumas mulheres que elas são sem ‘trato’, e a quem isso vai muito
bem, assim, esse estilo simples agrada mesmo sem ser ‘cuidado’. Nos dois
casos, faz-se alguma coisa para ter mais graça, mas sem que esse esforço
20.“Il y a aussi une apareça” (Cícero, apud Pons, 1991, p. XXIII)20. Uma explicação que o pró-
certaine négligence dili- prio Castiglione recupera em O Cortesão:
gente. En effet, comme
on dit de certaines fem-
Haveis alguma vez observado que, seja indo pelas ruas à igreja ou noutro lugar, seja
mes qu’elles sont sans
apprêt, à qui cela va brincando ou por outra causa, acontece que uma mulher tanta roupa retira que o pé
bien, ainsi ce style sim- ou um pedaço da perna acaba mostrando sem se dar conta? Não vos parece que exi-
ple plaît même sans être be uma enorme graça, se nisso se vê uma certa disposição feminina, elegante e re-
‘peigné’: on fait quelque buscada em seus laçarotes de veludo e meias limpas? Certamente isso a mim agrada
chose dans les deux cas
muito, e creio que a vós todos, porque cada um considera que a elegância, em parte
pour avoir plus grâce
(qui sit venustius), mais tão oculta e raras vezes vista, seja naquela mulher mais natural e própria do que for-
sans que cela paraisse”. çada, e que ela não pense obter com isso nenhum elogio (1997, p. 63, I, XL).
O termo sprezzatura em certo sentido encobre e aponta o que há de
paradoxal nessa exigência – estética e moral – de conjugar displicência e
diligência. Contido na ambiguidade da própria palavra graça, que indica
tanto o caráter agradável de seu portador, como sua exigência implícita por
reconhecimento, o caráter paradoxal da sprezzatura reflete-se igualmente
na forma de sociabilidade em que o cortesão se instrui e no interior da qual
vive. Com efeito, a ameaça da afetação não é exclusiva ao comportamento
cortesão, pois atinge com igual intensidade também a sociabilidade, cuja
possibilidade de sucumbir ao excesso de artifício, a uma aparência despro-
vida de substância, vai ser cada vez mais constante quanto mais a nobreza
perder sua função de classe e se pôr à mercê dos monarcas absolutos. Mas
então nem a existência individual, nem a coletiva vão mais se fundar sobre
o paradoxo fundamental característico da sprezzatura, ainda que, ou sobre-
tudo então, o modelo de Castiglione seja adotado como critério de distin-
ção social nas cortes (cf. Ossola, 1997; Lichtenstein, 1994).
108 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 108 7/7/2009, 17:11
Valéria Paiva
Em relação à sociabilidade, a manutenção desse equilíbrio precário en-
tre parecer e ser – entre parecer não dar importância para o que há de mais
importante – é assegurada pelo caráter lúdico que envolve a conversação
como celebração de um certo modo de vida. O artifício do “metajogo” com
que Castiglione inicia a narração propriamente dita desvela, enfim, toda a
sua importância. Na medida em que o discurso se põe como o “espaço” por
excelência em que são tecidas as relações sociais, o caráter lúdico da conver-
sação adquire um significado simbólico em relação ao que, de uma forma
geral, abrange esse modo de vida como um todo: uma dignidade que parece
se originar de uma certa displicência com a vida e que é coroada com honra
pela morte. Ao mesmo tempo, o artifício do “metajogo” nos alerta, tudo
considerado, para um ponto essencial no que diz respeito à relação entre
esse modelo de sociabilidade e o tipo de modelagem da identidade que ele
enseja: a necessidade, seja pela celebração, seja pelo elogio que se origina
com a graça, de um constante reconhecimento que opera não somente em
favor da distribuição de prestígio e poder, mas, em um sentido mais funda-
mental, na constituição das identidades coletiva e individual.
Ao escolhermos privilegiar a estrutura narrativa, nossa intenção foi tra-
zer à tona o tema da dissimulação no interior de um contexto específico de
sociabilidade, o de corte, e com isso mostrar que, nesse contexto, ela im-
porta tanto para a modelagem das identidades individuais, quanto para a
preservação da identidade coletiva da aristocracia como grupo social. A
dissimulação liga-se à necessidade de reconhecimento que orienta, em um
ambiente de corte, a performance dos atores sociais. O que O Cortesão per-
mite perceber, no entanto, é que essa performance se encontra, no período
renascentista, intimamente ligada a um ideal, ao mesmo tempo estético e
moral, de equilíbrio. Esse ideal de equilíbrio, que se alcança com a dissimu-
lação do esforço necessário à representação adequada (e não afetada) da
naturalidade, põe-se como uma espécie de “terceira margem” entre nature-
za e artifício, e com isso se afasta dos critérios de verdade (e, em contrapar-
tida, de fingimento) com que a arte da dissimulação tende a ser usualmen-
te, e muitas vezes exclusivamente, compreendida.
Isso, por um lado. Por outro, podemos pensar o Renascimento, seguin-
do Norbert Elias, como um momento de inflexão no processo civilizador,
em que as bases desse processo vêm à tona de forma explícita, antes de serem
incorporadas como uma espécie de “segunda natureza” pelos atores sociais e
se tornarem invisíveis. No que se refere à contenção e ao controle das fun-
ções corporais no comportamento social, por exemplo, percebe-se que, do
junho 2009 109
Vol21n1-d.pmd 109 7/7/2009, 17:11
A identidade como obra coletiva em O Cortesão, de Baldassare Castiglione, pp. 91-111
século XVI ao século XVIII, muitos temas antes tratados pelos manuais de
etiquetas e de comportamento desaparecem ou persistem somente pontual-
mente (cf. Elias, 1994, p. 141). A estabilização social acompanhada pela
institucionalização de hábitos civilizados torna desconfortável e embaraço-
sa a referência, antes natural, a determinadas maneiras de (não) agir em pú-
blico. O tema da dissimulação parece ter seguido um caminho paralelo,
contribuindo – agora no plano simbólico – para o controle dos impulsos e a
racionalização das condutas individuais. O Cortesão de Castiglione é um
exemplo de como, em um momento do processo civilizador, a dissimulação
foi não só um requisito, mas um valor para os membros da aristocracia
como grupo social. A crítica à dissimulação como fingimento no século
XVII, posteriormente recuperada pelo Movimento Romântico, antes que
negar, nos estimula a pensar em seu processo de naturalização e nas razões
que ainda tornam embaraçoso admitir que ela é parte necessária da vida nas
sociedades civilizadas.
Referências Bibliográficas
AUERBACH, Erich. (1976), Mimeses: A Representação da Realidade na Literatura Oci-
dental. São Paulo, Perspectiva.
BOLTANSKI, Luc. (2000), El Amor y la Justicia como Competencias: tres Ensayos de Socio-
logía de la Acción. Buenos Aires, Amorrortu.
BURKE, Peter. (1997), As Fortunas d’ O Cortesão: a Recepção Europeia a O Cortesão de
Castiglione. São Paulo, Editora da Unesp.
CASTIGLIONE, Baldassare. (1997), O Cortesão. 1ª edição 1528. São Paulo, Martins Fontes.
ELIAS, Norbert. (1994), O Processo Civilizador. Vol. 1. Rio de Janeiro, Jorge Zahar.
_____. (2001), A Sociedade de Corte. Rio de Janeiro, Jorge Zahar.
FUMAROLI, Marc. (1998), La Diplomatie de l’Esprit. Paris, Hermann.
_____. (2002), L’Âge de l’Éloquence: Rhétorique et ‘res literaria’ de la Renaissance au
seuil de l’époque classique. Genebra, Droz.
GOFFMAN, Erving. (1990), The Presentation of Self in Every Day Life. Londres, Penguin.
GREENBLATT, Stephen. (1984), Renaissance Self-Fashioning: from More to Shakespeare.
Chicago, University of Chigaco Press.
GREENE, Thomas. (1968), “The Flexibility of the Self in Renaissance Literature”. In:
DEMETS, P. & NELSON JR., L. (eds.), The Disciplines of Criticism. Essays in Literary
Theory, Interpretation and History. New Haven, Yale University Press, pp. 241-264.
HABERMAS, Jürgen (1984), Mudança Estrutural na Esfera Pública. Rio de Janeiro, Tempo
Brasileiro.
110 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 110 7/7/2009, 17:11
Valéria Paiva
LICHTENSTEIN, Jacqueline. (1994), A Cor Eloquente. São Paulo, Siciliano.
MARIN, Louis. (1999), L’Écriture de Soi: Ignace de Loyola, Montaigne, Stendhal, Roland
Barthes. Paris, Presses Universitaires de France.
MÍSSIO, Edmir. (2004), Acerca do Conceito de Dissimulação Honesta de Torquato Accetto.
Tese de doutorado. Campinas, Universidade Estadual de Campinas, Instituto de
Estudos da Linguagem.
OSSOLA, Carlo. (1997), Miroirs Sans Visage: du courtisan à l’homme de la rue. Paris,
Seuil.
PÉCORA, Alcir. (2001a), “Apresentação”. In: ACCETTO, Torquato. Da Dissimulação
Honesta. São Paulo, Martins Fontes.
_____. (2001b), Máquina de Gêneros. São Paulo, Edusp.
PONS, Alain. (1991), “Présentation”. In: CASTIGLIONE, Baldassare. Le Livre du Courtisan.
Paris, Flammarion.
SIMMEL, George. (1971), “Sociability”. In: LEVINE, Donald (ed.), On Individuality
and Social Forms. Chicago, University of Chicago Press, pp. 127-186.
Resumo
A identidade como obra coletiva em O Cortesão, de Baldassare Castiglione
Retomando alguns aspectos da tradição retórica, este artigo analisa a estrutura narrati-
va de um livro clássico das sociedades de corte – O Cortesão –, mostrando a dissimula-
ção como um elemento-chave tanto para a automodelagem da identidade como para a
sociabilidade no Renascimento. Desde a análise clássica de Norbert Elias os tratados de
corte passaram a receber mais atenção da crítica sociológica. Entretanto, a dissimulação
é normalmente relacionada, por essa crítica, com interesses ocultos, mas raramente com
um critério moral e estético para a ação social. Essa é a perspectiva adotada neste artigo.
Palavras-chave: Sociabilidade renascentista; Identidade; Dissimulação; Baldassare Cas-
tiglione.
Abstract
Identity as a collective product in the Book of the Courtier , by Baldassare Castiglione
Bringing some aspects of rhetoric tradition back into the sociological view of court socie- Texto recebido em 14/
5/2007 e aprovado em
ties, this article analyses the narrative structure of a classic book of court societies – The
25/8/2008.
Book of The Courtier – to sustain dissimulation as a component of both renaissance self-
Valéria Paiva é douto-
fashioning and sociability. Since the Norbert Elias’ classical analysis this kind of books
randa em Sociologia
has received a lot of attention from sociological criticism. However, dissimulation is
pelo Programa de Pós-
usually related to hidden interests, but rarely to an aesthetic and moral judgement about Graduação em Socio-
social action, which is the perspective of this paper. logia do Iuperj. E-mail:
Keywords: Renaissance sociability; Identity; Dissimulation; Baldassare Castiglione. vpaiva@iuperj.br.
junho 2009 111
Vol21n1-d.pmd 111 7/7/2009, 17:11
Paradoxos do trabalho associado
Jacob Carlos Lima
O contexto de reestruturação econômica e flexibilização das relações de tra-
balho teve entre seus desdobramentos a multiplicação de cooperativas de
trabalho, de produção industrial e de empresas autogestionárias. As carac-
terísticas comuns dessas formas de organização da produção são a proprie-
dade e a gestão coletiva dos empreendimentos, ou, se preferirmos, dos
meios de produção pelos trabalhadores. Essa forma de posse e relações de
trabalho é conhecida como trabalho autogestionário ou trabalho associado.
O debate que tem acompanhado as diversas experiências no Brasil está
polarizado numa dicotomia básica: o cooperativismo autêntico, represen-
tado pela adesão aos princípios autogestionários e de emancipação dos tra-
balhadores, apoiado pelo movimento de Economia Solidária, e o coopera-
tivismo tradicional, representado, pelo menos formalmente, pela
Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), com uma orientação de
mercado, uma forma de gestão que adotaria os princípios do movimento
cooperativista internacional numa perspectiva de inserção empresarial.
Entre essas perspectivas, que refletem posições ideológicas relativa-
mente definidas, existe e se multiplica uma diversidade de formas de
organização do trabalho associado que desafia dicotomias sobre a positi-
vidade ou a negatividade dessas formas e coloca algumas questões: em
que medida representa passos na direção de autonomia e possibilidade
de emancipação dos trabalhadores, ou mais uma artimanha do capital
Vol21n1-d.pmd 113 7/7/2009, 17:11
Paradoxos do trabalho associado, pp. 113-132
para a precarização das relações de trabalho, ou, ainda, simplesmente
uma forma secundária de organização do trabalho e mesmo alternativa
de emprego?
As duas vias não são retas, e uma série de voltas e empecilhos variados
impede de vê-las em sua multiplicidade. Poderíamos nos adiantar e afirmar
a precarização do trabalho implícita no caráter flexível da cooperativa, o
que é temerário, uma vez que em diversas experiências a situação do traba-
lhador melhora, seja em termos salariais, seja em termos de condições de
trabalho. Numa outra perspectiva, poderíamos afirmar o caráter emancipa-
tório presente na proposta autogestionária historicamente polêmica, mas
que marcou o movimento operário no final do século XIX e início do sécu-
lo XX. Um século depois, o pertencimento a essa tradição caracterizaria as
cooperativas “autênticas”, igualmente polêmicas se considerarmos o atual
contexto político e econômico, com o declínio das ideologias coletivistas, a
revisão do mercado como instância de troca e determinação social que an-
tecederia e perpassaria o capitalismo e os decorrentes problemas da gestão
coletiva, mesmo com a assessoria política e sindical.
Ao lado dessas perspectivas, podemos situar uma outra: a das cooperati-
vas chamadas “populares”, voltadas para a inserção de trabalhadores excluí-
dos do mercado de trabalho, e que pretendem ser mais uma alternativa de
inserção social. Nessa categoria situam-se principalmente as cooperativas
incubadas, voltadas para as populações de baixa renda, que se confundem
com associações de diferentes tipos. Algumas se integram em redes empre-
sariais, sobretudo no setor de confecções, que terceirizam sua produção para
pequenas oficinas e nas quais cooperativas são organizadas como forma de
acesso a uma ocupação remunerada. De forma geral, a incubação de coope-
rativas por órgãos ou entidades voltados para a economia solidária tende a
manter um caráter educativo na organização, ideologicamente orientado
para os princípios do movimento. Aos poucos, a partir da segunda metade
da década de 1990, o associativismo com o cooperativismo como base pas-
sou a compor políticas públicas voltadas a populações de baixa renda.
Para discutir essa heterogeneidade e a dificuldade de classificação desses
empreendimentos em termos de sua vinculação ao mercado, assim como o
caráter do trabalho efetivamente autônomo ou subordinado, apresentamos
neste artigo alguns dilemas enfrentados pelo trabalho associado ou auto-
gestionário a partir de experiências concretas que refletem contextos, luga-
res, possibilidades e limites. Mais que uma forma de trabalho atípico ante o
trabalho assalariado regular, o trabalho associado apresenta peculiaridades
114 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 114 7/7/2009, 17:11
Jacob Carlos Lima
que refletem a própria dinâmica do capitalismo diante de formas alternati-
vas que se contrapõem a ele.
Procura-se inicialmente discutir cooperativas e empresas autogestionárias
no contexto de questões presentes no debate das transformações das rela-
ções de trabalho e suas consequências: a flexibilização dessas relações; sua
positividade como possibilidade de autonomia dos trabalhadores; a negati-
vidade resultante da precarização, entendida como perda de direitos e ex-
clusão do mercado; e como alternativa de inserção social para trabalhadores
excluídos ou nunca inseridos no mercado formal. Em outras palavras, in-
troduzir uma sociologia do trabalho associado, analisando as relações so-
ciais presentes nas propostas de gestão coletiva do trabalho num momento
de questionamento das formas de regulamentação das relações capital-tra-
balho e dos direitos sociais presentes nessas relações.
Flexibilização e precarização
O ressurgimento das cooperativas de trabalho, agora como produto da
reestruturação econômica, não é um fenômeno apenas nacional. Desde o
início dos anos de 1980 são relatadas experiências, na Europa, de organiza-
ção de cooperativas visando a atenuar problemas como o desemprego pro-
vocado pela reestruturação industrial, e formas alternativas de produção
vinculadas a propostas contraculturais originadas nos anos de 1960.
A experiência típico-ideal dos novos tempos e das possibilidades das
cooperativas é dada pelo Complexo de Mondragón, no País Basco espa-
nhol, que alia a perspectiva do trabalho autogestionário e sua integração
aos novos parâmetros de modernização tecnológica, de gestão e competiti-
vidade, nos quais a flexibilização não significa necessariamente precariza-
ção. Ainda na Espanha, no início dos anos de 1990, cooperativas de con-
fecções foram organizadas para a terceirização industrial, em algumas
situações com a participação da Igreja Católica, em sua maioria cooperati-
vas de mulheres de regiões pobres da Galícia e de Astúrias, como forma de
atenuar o desemprego, ao mesmo tempo em que propiciava o rebaixamen-
to de custos para fábricas e cadeias de lojas.
Nesses casos, autores como Herranz e Hoss (1991) analisaram a expe-
riência na perspectiva da industrialização difusa, da pequena empresa em
rede, e suas possibilidades competitivas, na qual a flexibilização é vista como
potencialmente positiva para os trabalhadores, no sentido de maior auto-
nomia no trabalho e possibilidades de ocupação. Outros, como Gutiérrez
junho 2009 115
Vol21n1-d.pmd 115 7/7/2009, 17:11
Paradoxos do trabalho associado, pp. 113-132
(1992), destacaram o caráter precarizador presente nessa forma de organi-
zação do trabalho.
No Brasil, até o final dos anos de 1980, as cooperativas de trabalho, ou
empresas autogestionárias, produtos de fábricas falidas e transformadas em
1.Que a partir da cri- cooperativas1, ou mesmo experiências de organização coletiva, eram em
se argentina do ano número reduzido, pontuais, fruto da organização dos trabalhadores para
2000 passaram a ser
manter seus empregos (cf. Holzmann, 2001; Nascimento, 1993). Elas eram
conhecidas como em-
presas “recuperadas”.
apoiadas e organizadas por órgãos de fomento internacionais, como a In-
terAmerican Foudation, voltada para a geração de renda e formação de
lideranças comunitárias, que financiou numerosos projetos de cooperativas
em diversas regiões do país (cf. Cavalcanti, 1988), ou mesmo pela Igreja
Católica, com a participação de intelectuais, como foi o caso da Unilabor,
fábrica de móveis situada na cidade de São Paulo, baseada nos princípios
do grupo católico francês “Economia e Humanismo”, que funcionou no
2. Após esse período, período de 1954 a 1967 (cf. Claro, 2004)2.
vale destacar, dentro da Essas experiências, com origens diversas, passam a se multiplicar a partir das
perspectiva da econo- políticas neoliberais iniciadas no governo Collor em 1989 e levadas adiante na
mia solidária, a partici-
década seguinte no governo Cardoso, com o início dos processos de
pação da Cáritas, enti-
dade ligada à Igreja Ca- privatização de empresas estatais, a reestruturação empresarial provocada pela
tólica, no apoio à for- abertura do mercado nacional a produtos importados e o aumento da compe-
mação de cooperativas. titividade, o estabelecimento de políticas de demissão voluntária de emprega-
Ver Souza (2006). dos e demissões decorrentes da eliminação de postos de trabalho e da busca de
enxugamento de custos. A reespacialização da indústria brasileira acompa-
nhou a reestruturação econômica, em busca de menores custos, seja pela sua
saída de centros urbanos congestionados, seja pela mobilização sindical desses
centros. A região metropolitana de São Paulo foi a mais atingida, embora não a
única a sofrer essas mudanças territoriais, com a transferência de numerosas
plantas industriais para o interior do estado e para outras regiões do país.
As cooperativas reaparecem nesse contexto como produto da reestrutu-
ração econômica e da política do período. Esse processo assumiu configura-
ções que ora se distinguem, ora se confundem, como aquela voltada para a
redução dos custos empresariais por meio da eliminação das obrigações tra-
balhistas. A cooperativa representaria a flexibilidade pela ausência de con-
tratos e pela responsabilização do trabalhador, que, em tese, se envolveria
mais no trabalho, como forma de garantir regularidade de ganhos. Resultou
na organização de cooperativas por empresas industriais e agrícolas e na in-
termediação de mão de obra, e tornou-se, inclusive, política pública em esta-
dos da federação como o Ceará, emblemático desse processo. Na busca por
116 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 116 7/7/2009, 17:11
Jacob Carlos Lima
investimentos industriais, no bojo da chamada “guerra fiscal”, produto do
desmonte de políticas de planejamento econômico pelo Estado brasileiro, o
estado do Ceará passou a fornecer infraestrutura para atrair indústrias de
trabalho intensivo, setor mais afetado pela abertura de mercado. Fornecen-
do prédios, energia, estradas, renúncia fiscal de dez a quinze anos e organi-
zando cooperativas de trabalhadores para atuarem como terceirizadas para
empresas, criou um atrativo a mais, reduzindo custos com a gestão da mão
de obra. O estado passou a treinar trabalhadores, pagar dois meses de bolsa-
salário e organizar formalmente as cooperativas, que se mantinham sob a
supervisão das empresas contratantes, que de fato terminavam por geri-las.
Outras cooperativas foram formadas por trabalhadores rurais na colhei-
ta da laranja para desonerar empresas citricultoras paulistas3, para a terceiri- 3. Essas cooperativas fo-
zação de serviços de empresas privatizadas do setor elétrico e de telefonia, e ram fechadas ainda na
década de 1990, pelo
para a terceirização de processos de produção em diversos ramos industriais.
Ministério Público, por
No conjunto, nessas cooperativas predominou um forte caráter precari-
utilizarem trabalho as-
zador, com uma autogestão pró-forma, subordinada às empresas contratan- salariado disfarçado.
tes. Em sua organização, formas variadas foram adotadas: cooperativas for-
madas por quadros de direção demitidos, organizadas para trabalhar como
terceirizadas para a empresa de origem; sugestão de organização de coopera-
tivas pelos sindicatos com trabalhadores demitidos nos processos de reestru-
turação; políticas de governo com o envolvimento de várias instâncias esta-
tais na formação, organização, sustentação financeira inicial de cooperativas
em parceria com empresas privadas em regiões com mão de obra abundante
e barata, e em pequenas cidades do interior sem tradição industrial.
Problemas com trabalhadores, fiscalização do Ministério do Trabalho,
fim de incentivos fiscais e de políticas estatais voltadas à organização de
cooperativas para terceirização progressivamente reduziram os atrativos dessa
forma de organização do trabalho para as empresas, embora não a tenham
eliminado.
Nas cooperativas industriais abertas em pequenas cidades do interior do
país, principalmente no Nordeste, o caráter precarizador exige certa relati-
vização, pois em diversas situações representou uma alternativa de ocupa-
ção para trabalhadores, mulheres principalmente, e, dada a fiscalização per-
manente, exigiu que as cooperativas formalmente se adequassem à legislação
cooperativista. Em situações de regularidade de encomendas, diversas coo-
perativas funcionaram por mais de dez anos e algumas ainda funcionam,
com os trabalhadores gerindo-as, mas fortemente subordinados à empresa
contratante.
junho 2009 117
Vol21n1-d.pmd 117 7/7/2009, 17:11
Paradoxos do trabalho associado, pp. 113-132
No geral, a positividade está menos na participação dos trabalhadores
na gestão, embora em algumas se mantenham as assembleias regulares, que
na estabilidade das retiradas mensais, em alguns casos superiores a fábricas
regulares, e com significativos impactos em termos de melhora das condi-
ções de vida pelo acesso ao consumo de bens e serviços. Isso provocou a
dinamização de economias locais, que passaram por momentos de euforia
com o crescimento de vendas, fazendo com que comerciantes e políticos
locais defendessem a permanência dessas cooperativas.
É o caso, por exemplo, da cooperativa existente em Quixeiramobim, no
Ceará, que emprega cerca de 3 mil trabalhadores, vinculada a uma empresa
gaúcha que trabalha terceirizada para grifes internacionais de tênis e sapatos
femininos. Com produção voltada à exportação, essa cooperativa é a única
remanescente da política governamental de atração da cadeia do vestuário
para o estado que mantém essa forma de organização do trabalho. Instalada
numa cidade de 60 mil habitantes e sem atividades econômicas significati-
vas, a fábrica cooperativa tornou-se polo de atração de “empregos”, além das
ocupações indiretas propiciadas pelas atividades quarteirizadas em domicí-
lios, como a costura de sapatos realizada nas casas dos trabalhadores.
Outras cooperativas, distribuídas em diversas cidades do interior cea-
rense, foram fechadas em função das crises no setor, do fim de incentivos
fiscais e por problemas trabalhistas, uma vez que, após determinado tempo
de funcionamento, os trabalhadores “cooperados” passaram a exigir di-
reitos trabalhistas.
4. Cornforth (2004) Outras experiências em estados como Pernambuco e Rio Grande do
destaca a variedade de Norte apresentaram, igualmente, o paradoxo4 da precarização, representa-
problemas na gestão do pela inexistência da perspectiva de direitos, de um lado, e a existência
das cooperativas euro-
concreta de ganhos regulares em cidades sem atividades econômicas signifi-
peias, como o mau ge-
renciamento, escânda- cativas, de outro (cf. Lima, 1998).
los financeiros e ausên- A perspectiva da redução de custos não se tem limitado a trabalhado-
cia de democracia in- res fabris ou agrícolas, atingindo igualmente trabalhadores qualificados e
terna, o que torna com- de “classe média”. Nesses casos, incluem-se as cooperativas de interme-
plexa a análise da quali-
diação de mão de obra, autônomas ou vinculadas especificamente aos
dade da “governance”
dessas cooperativas.
interesses de empresas. Constata-se sua existência na indústria de softwa-
re na região de Campinas, assim como no setor de serviços, como as
5.Sobre cooperativa de
cooperativas de professores do ensino superior no estado de São Paulo,
intermediação de mão
de obra num hospital em hospitais5 etc. Os professores, se aceitarem ser cooperativados, che-
de São Paulo, ver Oli- gam a ganhar três vezes mais por hora aula, abdicando de quaisquer di-
veira (2007). reitos do contrato de trabalho.
118 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 118 7/7/2009, 17:11
Jacob Carlos Lima
Embora combatidas como falsas por organizações sindicais e pelo Mi-
nistério Público do trabalho, e em grande medida por terem se revelado
fraudulentas, as cooperativas de “mão de obra” não são em si ilegais, desde
que organizadas dentro dos princípios do cooperativismo6. O fato de a 6.Martins (2003) in-
cooperativa ser vista como um negócio, cuja particularidade está na posse e clui as cooperativas de
mão de obra em sua
gestão coletiva, mas não em seu caráter diante do mercado, explica seu
classificação das coope-
apoio por órgãos como a OCB. Esse ponto é polêmico, uma vez que são rativas de trabalho.
poucos os casos em que os trabalhadores se organizam voluntariamente
com a perspectiva de um trabalho autônomo, coletivamente gerido e ideo-
logicamente orientado para fora do mercado.
Flexibilização sem precarização
Uma segunda configuração resulta, nesse mesmo período, de cooperati-
vas e empresas autogestionárias organizadas e/ou assessoradas por ONGs e
sindicatos a partir de processos de ocupação de fábricas em situação
falimentar e sua transformação em empresas autogestionárias, ou pela or-
ganização de desempregados a partir do fechamento de unidades indus-
triais. Nestas, os trabalhadores assumem as empresas e adotam o sistema de
autogestão, no qual se tornam proprietários e participam efetivamente da
gestão. A perspectiva inicial de manutenção de empregos e/ou de alternati-
va ao desemprego vai sendo progressivamente politizada numa proposta
emancipatória, agrupada no movimento de economia solidária formado
também na década de 19907. Nesse enfoque, o trabalho autogestionário 7. O movimento de
mostra-se não apenas como alternativa de emprego, mas como uma opção economia solidária no
ao próprio capitalismo, numa proposta de reconstrução do ideário de um Brasil surge a partir da
formulação de seus
novo socialismo.
pressupostos por Paul
Destaca-se aqui a formação da Anteag – Associação Nacional dos Traba- Singer, economista, so-
lhadores e Empresas de Autogestão –, pioneira no assessoramento e organi- ciólogo e atual Secretá-
zação de fábricas em processo falimentar para a formação de cooperativas. rio da Senaes (Secreta-
Analisando as diversas experiências da Anteag, verifica-se, igualmente, uma ria Nacional de Econo-
mia Solidária).
grande diversidade nas formas assumidas por essas empresas, na participa-
ção efetiva dos trabalhadores, no maior ou menor sucesso dos empreendi-
mentos e nas relações com outras empresas.
As cooperativas e as empresas autogestionárias, independentemente do
seu caráter de propriedade e gestão coletiva, mantêm o estatuto jurídico e
econômico de propriedade privada, trocando seus produtos com outros
agentes econômicos no mercado. Com isso, estão sujeitas às determinações
junho 2009 119
Vol21n1-d.pmd 119 7/7/2009, 17:11
Paradoxos do trabalho associado, pp. 113-132
do mercado capitalista, suas crises e oscilações. A produção é afetada direta-
mente no que diz respeito às tecnologias adotadas, às formas de organiza-
ção do trabalho, ao ritmo, à disciplina e à qualidade dos produtos (Vieitez
e Dal Ri, 2001).
No geral, as fábricas enfrentam os dilemas decorrentes da falta de
capital de giro, de máquinas relativamente obsoletas, da burocracia dos
processos falimentares, da recuperação da posse por antigos proprietá-
rios, das dificuldades de reinserção no mercado e dos desafios da gestão
coletiva.
Os resultados têm sido variados, com cooperativas funcionando como
terceirizadas (algumas reorganizadas a partir do fechamento de empresas e
passando a trabalhar para o mesmo grupo), outras recuperando mercados
anteriores e tornando-se sucessos empresariais, e outras com grandes difi-
culdades de manutenção. Com relação à gestão, a variação também é mui-
to grande. O tamanho da empresa é uma variável importante na participa-
ção. Quanto maior a empresa, maior a tendência à representação dos
trabalhadores e maior a participação dos envolvidos na administração, em
detrimento dos trabalhadores envolvidos na produção.
A militância no processo de transformação e o envolvimento político na
proposta também se manifestam na maior participação desses trabalhado-
res nos cargos de direção e administração, criando novas hierarquias com
flexibilidade variável. Em outras situações, a permanência do staff adminis-
trativo anterior resulta na reprodução das hierarquias. O êxito empresarial
tem resultado, ainda, na contratação de trabalhadores assalariados de for-
ma permanente ou temporária, reproduzindo esquemas de empresas regu-
lares e fragilizando o caráter coletivo e democrático da gestão.
Outras situações similares são as das cooperativas organizadas por su-
gestão de empresas que se propuseram a terceirizar parte da produção. Nes-
ses casos, sindicatos foram contatados e passaram a intermediar a formação
de cooperativas no processo de terceirização, como por exemplo nas indús-
trias de calçados do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul. Nesses casos, os
resultados também têm sido distintos, embora se deva destacar o relativo
êxito das cooperativas organizadas. Nestas, a democracia interna é relativa-
mente forte, mas a participação na gestão é diferenciada, com direções re-
clamando do baixo envolvimento dos trabalhadores, que alegam não en-
tender de assuntos administrativos ou mesmo não se interessarem, e a
formação ou manutenção de grupos de trabalhadores que se especializam
ou se mantêm em funções administrativas. Mesmo assim, em todas elas os
120 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 120 7/7/2009, 17:11
Jacob Carlos Lima
trabalhadores estão presentes e opinam nas assembleias. No cotidiano da
produção, embora a intensificação do trabalho seja maior, comparativa-
mente a fábricas regulares, uma vez que para manter a competitividade os
trabalhadores têm que dar conta dos prazos das encomendas, eles ressaltam
a maior qualidade do ambiente e sua maior satisfação, considerando que
participam mais, a disciplina é menos rígida, o estresse do dia a dia é me-
nor, além da estabilidade no posto de trabalho. A rotatividade dos trabalha-
dores é pequena e, na maioria das vezes, voluntária (cf. Lima, 2007).
Poderíamos nos referir ainda a um grupo de cooperativas formadas por
sugestão de uma grande empresa paulista de confecções no interior do estado
de São Paulo. As quatro cooperativas foram organizadas e numa delas a
empresa sugeriu a recontratação dos trabalhadores como assalariados, num
contexto de aumento da produção. Parte dos cooperativados aderiu à pro-
posta e outros preferiram continuar na cooperativa, alegando maior auto-
nomia. A empresa manteve os contratos de terceirização com as cooperati-
vas, mas elas funcionam de forma diferenciada. Duas das quatro são filiadas
à Anteag, mantendo os princípios autogestionários como proposta, e as
outras à OCB, trabalhando de forma mais empresarial e com contratação
de trabalhadores assalariados. No conjunto, entretanto, independentemente
da filiação política, os ganhos regulares dos trabalhadores e a relativa satis-
fação com as condições de trabalho têm arrefecido a participação dos traba-
lhadores nas propostas de economia solidária, mantidas apenas em nível de
direção (cf. Mondadore, 2007).
Nesses casos, a questão da flexibilização é evidente e atinge os mesmos
propósitos da redução de custo empresarial, mas a precarização é igualmen-
te relativa, já que parte significativa dessas cooperativas compensa a ausên-
cia de direitos trabalhistas com a observância das retiradas e a transforma-
ção do auferido em férias, décimo terceiro e valorização das cotas, que em
diversas situações funcionam até como indenização trabalhista. Nesse sen-
tido, poderíamos falar de flexibilização sem precarização, pela observância,
mesmo que relativa, dos princípios autogestionários e a manutenção, adap-
tada, de direitos trabalhistas. Entretanto, a lógica do assalariamento conti-
nua dominante.
Flexibilização e inserção social
Nos anos de 1990, por iniciativa da Fundação Unitrabalho, entidade
vinculada a universidades e à Central Única dos Trabalhadores, foram cria-
junho 2009 121
Vol21n1-d.pmd 121 7/7/2009, 17:11
Paradoxos do trabalho associado, pp. 113-132
das diversas incubadoras de cooperativas como atividade de extensão dessas
universidades. As incubadoras passaram a organizar trabalhadores de baixa
renda e/ou em situações de risco e treiná-los visando à organização de asso-
ciações ou cooperativas. Os resultados mais visíveis dessa atuação têm sido
as associações ou cooperativas de reciclagem de lixo, que passaram a contar
com a participação de diversas prefeituras, com êxito significativo.
Estudo dessas cooperativas aponta a melhoria das condições de trabalho
dos trabalhadores envolvidos, principalmente com sua retirada de lixões,
organizando-os. Nessas situações, evidencia-se a saída da situação de preca-
riedade anterior, possibilitando sensível melhoria, embora fique difícil afir-
mar algo sobre a incorporação de valores da autogestão ou mesmo autono-
mia. A melhoria se dá dentro do quadro da precariedade da vida e da falta
de alternativas, no qual a cooperativa, os locais de coleta, as discussões das
incubadoras terminam significando efetivamente uma possibilidade de in-
serção social para grupos excluídos do mercado de trabalho. Mesmo assim,
o envolvimento dos trabalhadores enfrenta o dilema da, pelo menos num
primeiro momento, redução de ganhos. A organização de cooperativas de
reciclagem e a saída dos lixões geralmente vêm acompanhadas de retiradas
menores, e a manutenção nas cooperativas depende da atuação do governo
municipal no fechamento desses lixões ou na proibição da presença de tra-
balhadores nos que ainda funcionam ou estão em processo de fechamento.
A coleta de recicláveis por “carrinheiros”, trabalhadores que coletam
nas ruas o lixo reciclável, e sua organização em cooperativas para a venda
do material têm sido as estratégias utilizadas por diversas prefeituras em
todo o país. Para os trabalhadores, significam a regularização de sua ativi-
dade e o acesso a benefícios sociais, conforme o grau alcançado na organi-
zação das cooperativas.
Um dilema enfrentado pelas incubadoras encontra-se no processo de
desincubação, ou seja, em que medida as associações e as cooperativas sobre-
vivem à retirada do apoio sistemático de incubadoras e entidades parceiras.
Correndo ao largo das organizações de apoio, podemos também nos
referir às cooperativas de confecção organizadas na cidade de São Paulo,
que envolvem sindicatos, associações comunitárias da periferia e prefeitura
municipal, com costureiras que trabalham para lojas e fábricas da cidade.
Essas cooperativas terminam funcionando como variações do trabalho in-
formal, no qual elas se constituem apenas como uma forma organizativa a
mais, sem preocupação com a observância de princípios cooperativistas-
autogestionários. Essas formas aparecem como tipos de trabalho possíveis
122 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 122 7/7/2009, 17:11
Jacob Carlos Lima
dentro da construção do que Georges e Freire (2007) chamam de “redes de
sobrevivência”, ou seja, a capacidade das trabalhadoras de conseguir enco-
mendas e se manter no mercado. A instabilidade dessa situação faz com que
elas circulem entre o trabalho autônomo como empregadas domésticas dia-
ristas e a ocupação de costureiras em oficinas de cooperativas, sem muita
distinção, num quadro de precariedade permanente.
Essas configurações do trabalho, nas quais as cooperativas aparecem como
possibilidades, levantam algumas questões vinculadas à própria natureza
do trabalho autogestionário e seus dilemas. Entre eles poderíamos destacar
os pontos a seguir.
Autogestão e heteronomia
Define-se autogestão como a gestão por parte dos trabalhadores de seu
próprio trabalho. A proposta remete ao início do movimento cooperativis-
ta e das polêmicas dentro do movimento operário, num momento em que
o assalariamento se tornava hegemônico. Essas polêmicas centravam-se, de
um lado, no caráter revolucionário presente no que poderia ser um germe
do novo modo de produção socialista, e, de outro, no reformismo presente
no fato de os trabalhadores se tornarem patrões de si mesmos, se autoexplo-
rando, ou ainda se transformarem, com o sucesso das cooperativas, em em-
presas capitalistas regulares (cf. Marx, 1977; Luxemburgo, 2001). Ao lado
da questão política mais ampla, reforma ou revolução, a autogestão envolve
numerosas ambiguidades presentes nas experiências concretas de coopera-
tivas, que, dada a experiência da heteronomia e a inexperiência do exercício
coletivo da gestão, resultaram em novos grupos dominantes, novas hierar-
quias, enfim, novas estruturas de poder. Ao mesmo tempo, com a progres-
siva hegemonia do assalariamento, a autogestão não se constituiu em pauta
reivindicativa do movimento operário-sindical. Pelo contrário, a gestão tor-
nou-se prerrogativa dos patrões, cabendo aos movimentos a luta por me-
lhores salários, condições de trabalho e até participação na gestão, mas na
perspectiva do antagonismo das relações capital-trabalho.
Com as mudanças recentes do capitalismo, tecnológicas e organizacio-
nais, o aumento do desemprego e a perda relativa dos benefícios agregados
à relação salarial no século XX, a proposta de cooperativa e autogestão acopla-
se à flexibilidade do regime de acumulação, suas positividades e
negatividades. Progressivamente a autogestão torna-se pauta do movimen-
to sindical, mesmo que ainda de forma polêmica. O desemprego estrutu-
junho 2009 123
Vol21n1-d.pmd 123 7/7/2009, 17:11
Paradoxos do trabalho associado, pp. 113-132
ral, a redução de categorias de trabalhadores, o enfraquecimento das ban-
deiras classistas tornam a autogestão uma alternativa a ser repensada. Isso
envolve, por sua vez, a formação dos trabalhadores para a gestão, o que
extrapola a militância política e depende de fatores tal como a disposição
do grupo, as perspectivas de sucesso dos empreendimentos, resultados em
curto prazo, a confiança entre os trabalhadores etc.
Geralmente a empresa recuperada perde a maioria dos trabalhadores,
que buscam outros empregos. Os que ficam e participam do processo de
conversão aceitam inicialmente os sacrifícios da mudança visando às
melhorias futuras e ao recebimento de dívidas geralmente convertidas em
cotas. Entre os que permanecem, a confiança é um fator fundamental da
nova gestão para a continuidade do empreendimento. Na organização de
cooperativas, geralmente associam-se trabalhadores desempregados, menos
pela convicção de um trabalho autônomo e emancipador e mais pela falta
de perspectivas de emprego regular, como uma alternativa ao desemprego,
um período intermediário até as coisas melhorarem.
A falta de experiência de gestão e da própria noção de coletivo ou públi-
8.Segundo DaMatta co, que no Brasil significa, grosso modo, estatal8 – ou de responsabilidade de
(1987), a sociedade ninguém –, leva a situações esdrúxulas. Alguns exemplos entre as coopera-
brasileira é caracteriza-
tivas pesquisadas são ilustrativos de situações paradoxais, criadas pela in-
da pelo combate entre
o mundo “público”, re- compreensão efetiva do significado da gestão, com grupos internos contro-
presentado pelas leis lando a empresa e gerenciando-a em benefício próprio: uma fábrica em
universais e do merca- crise e recuperada em Pernambuco estabeleceu o rodízio de trabalhadores,
do, e o universo priva- em que aqueles próximos à direção eram prioritariamente escolhidos (cf.
do da família dos com-
Cabral, 2004); o presidente de uma cooperativa terceirizada, também em
padres, parentes e ami-
Pernambuco, fugiu com o dinheiro da primeira retirada de final de ano;
gos, um universo rela-
cional que medeia a uma cooperativa no Rio Grande do Sul, na qual os membros de uma mes-
política e a descaracte- ma família passaram progressivamente a assumir o controle; uma coopera-
riza. tiva na Paraíba, organizada e gerenciada por uma família, em que a presidenta
se revoltou com a ingratidão das cooperadas, que entraram na justiça con-
tra a “proprietária”, que alegou ter feito tudo por elas e agora estar sendo
injustiçada.
Enfim, situações limite que evidenciam a ausência de uma percepção
comum sobre a ideia de coletivo e a preponderância de um individualismo
no qual todos querem se beneficiar do que é público, coletivo ou, como
dissemos acima, “de ninguém”.
Por outro lado, a questão da autonomia da cooperativa enfrenta os pro-
blemas da terceirização e da inserção em redes empresariais. Quando a coo-
124 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 124 7/7/2009, 17:11
Jacob Carlos Lima
perativa não possui produto próprio, trabalha como terceirizada para deter-
minadas empresas. Em tese, se trabalhasse para diversas fábricas e/ou em-
presas, não se caracterizaria nenhum processo de subordinação a nenhuma
delas. No geral, entretanto, acontece o inverso, com uma empresa domi-
nando as encomendas e impondo não apenas especificações de produtos,
mas também formas de organização do trabalho e supervisão. Independen-
temente de seu relacionamento com entidades representativas e de sua
vinculação política, é comum às empresas contratantes manter nas coopera-
tivas, em comodato, máquinas diversas, emprestar prédios e criar outras for-
mas de dependência que possibilitam o controle sobre elas.
Mesmo quando a cooperativa mantém total autonomia na gestão, esta
esbarra na dependência da empresa contratante, que termina sendo a con-
dição da existência da cooperativa. Para os trabalhadores, isso se manifesta
na baixa percepção da propriedade coletiva, mesmo quando destacam o
caráter participativo da gestão. Vietez e Dal Ri (2001) dão uma interpreta-
ção à existência da propriedade coletiva dos trabalhadores em empresas
autogestionárias. Para eles, a única propriedade que os trabalhadores te-
riam seria a sensação de pertencimento a uma “comunidade de trabalho”,
já que não haveria acumulação de capital e sim reprodução dessa comuni-
dade em si mesma, com a manutenção dos postos de trabalho, a produção
e a distribuição de renda. Ainda assim, consideram que essa acumulação
poderia existir de forma competitiva, embora em novas bases. Reconhecem
que a existência de acumulação sem expropriação do trabalho alheio é algo
a ser pensado como uma possibilidade. O concreto do cotidiano das coope-
rativas e empresas autogestionárias e sua forte vinculação e dependência ao
mercado tornam a mudança na concepção de empresa algo complexo, uma
vez que elas estão inseridas de uma forma ou de outra na dinâmica capita-
lista que determina os espaços de atuação.
O trabalho associado como alternativa
O crescimento do cooperativismo de trabalho no Brasil dos anos de
1990 não resulta efetivamente de um movimento de trabalhadores pela
autogestão, e sim de situações pontuais de luta pela manutenção de empre-
gos num contexto de crescimento do desemprego formal como resultado
da reestruturação econômica. No geral, nas fábricas transformadas em coo-
perativas, mantêm-se majoritariamente trabalhadores acima de 35 anos,
com possibilidades menores no mercado de trabalho e para os quais a per-
junho 2009 125
Vol21n1-d.pmd 125 7/7/2009, 17:11
Paradoxos do trabalho associado, pp. 113-132
manência na cooperativa seria uma das únicas formas de receber salários
atrasados ou indenizações. Isso explica a permanência de um número redu-
zido de trabalhadores, uma vez que no processo de crise a maioria desiste e
procura outros empregos. Entre os que permanecem, existem desde os mi-
litantes pela cooperativa, que continuam sua formação por meio da partici-
pação sindical, até os free-riders, que esperam para ver “no que vai dar” (cf.
Rosenfield, 2007).
Em cooperativas organizadas para terceirização, a situação é a mesma, e a
parcela mais participativa encontra-se entre os mais mobilizados na organi-
zação. Após o funcionamento regular da cooperativa, é comum o trabalha-
dor aderir a ela como um outro tipo qualquer de emprego, sem uma pers-
pectiva política de autogestão. Em certo sentido, termina funcionando tal
qual a cooperativa organizada pela empresa: o trabalhador a considera ape-
nas como uma empresa diferente, podendo ter uma percepção positiva ou
negativa. É comum associados se desligarem da cooperativa no final do ano,
para receber a cota, da mesma forma que trabalhadores assalariados se demi-
tem para receber o fundo de garantia (cf. Lima, 2007).
Embora em diversas situações os trabalhadores destaquem a superioridade
da cooperativa como forma de organização de trabalho, por seu caráter me-
nos hierárquico e menor estresse no trabalho, nem sempre a percebem
como uma conquista política ou como um projeto, e sim como uma alter-
nativa num quadro de desemprego e de melhora nas condições de trabalho.
Nessas situações, a cooperativa é vista como uma possibilidade de circulação
no mercado de trabalho, formal e informal, que caracteriza a trajetória de
grande número de trabalhadores. No setor calçadista, por exemplo, a coo-
9. Ateliês, bancadas, perativa soma-se a ateliês, bancadas, pequenas oficinas9 e fábricas. Outro
bancas, fabricos são de- indicador dessa percepção, digamos, banalizada da cooperativa como em-
signações regionais para
presa apenas diferente encontra-se na participação desses trabalhadores em
pequenas oficinas.
outras atividades sociais, que apontariam para maior envolvimento políti-
co. Em pesquisas realizadas pela Anteag (2000) e em diversos estudos de
caso com cooperativas (cf. Lima, 2007), a participação política é reduzida
aos militantes. No mais, tal como numa fábrica regular, os trabalhadores
afirmam não ter tempo para atividades sociais, além de um futebol eventual
e a igreja nos finais de semana.
126 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 126 7/7/2009, 17:11
Jacob Carlos Lima
Gestão, hierarquia e participação
Autogestão pressupõe a participação dos trabalhadores nas atividades
das cooperativas. Isso, entretanto, varia conforme o seu tamanho. Nas pe-
quenas, essa participação é naturalmente maior, o que não significa que
direção e trabalhadores tenham a mesma percepção da participação ade-
quada. O tamanho como variável importante na democracia direta é um
fator apontado desde os gregos, passando por Rousseau, e presente na so-
ciologia desde Simmel, ao analisar a determinação quantitativa dos grupos
sociais (1983).
Em Mondragón, o Complexo estabelece um número máximo de qui-
nhentos trabalhadores em cada cooperativa como forma de manter sua
operacionalização. Mesmo assim, entre os trabalhadores do Complexo existe
a percepção do nós e dos outros, uma vez que a direção tende a se profissio-
nalizar cada vez mais e, dessa forma, ocorre um distanciamento maior entre
os trabalhadores do chão de fábrica e a direção (cf. Kasmir, 2007). No Bra-
sil a situação é a mesma, seja naquelas cooperativas que podemos chamar
de pragmáticas (de intermediação de mão de obra), nas quais a autogestão
é apenas formal e os trabalhadores não se sentem parte de um coletivo, seja
nas cooperativas defensivas (organizadas para manutenção de postos de tra-
balho), dependendo do grau de hierarquização existente e da democratiza-
ção efetiva da participação dos trabalhadores10. A formação de grupos de 10.Para a distinção en-
trabalhadores administrativos, ou em cargos de direção, passa a distingui- tre cooperativas prag-
máticas e defensivas,
los dos envolvidos na produção, recriando a dicotomia entre os que plane-
ver Lima (2004).
jam e os que executam.
Em cooperativas do setor calçadista, algumas experiências de crescimento
fracassaram e os trabalhadores reorganizaram suas estruturas, reduzindo o
número de trabalhadores de duzentos para oitenta, tamanho considerado
adequado para administrá-las. Outras, com configurações distintas, abri-
gam mais de mil trabalhadores, mas as assembleias são formais, uma vez ao
ano, e a participação é restrita a representantes.
As diferenças hierárquicas são percebidas pelos trabalhadores como ne-
cessárias, dadas as distintas especializações/qualificações exigidas pelos pos-
tos de trabalho. Entretanto, hierarquias menores são apontadas como posi-
tivas para tornar o espaço de trabalho mais agradável e colaborativo. Quanto
às diferenças de rendimento, existe relativo consenso que atividades dife-
renciadas devem ter remuneração diferenciada, embora com limites discu-
tidos coletivamente.
junho 2009 127
Vol21n1-d.pmd 127 7/7/2009, 17:11
Paradoxos do trabalho associado, pp. 113-132
A disciplina é um fator que afeta as cooperativas, seja pelo não entendi-
mento dos trabalhadores do funcionamento da “empresa”, seja pela presen-
ça de supervisores autoritários. Entretanto, quanto maior a participação,
maior a colaboração entre os trabalhadores de distintos graus hierárquicos.
Nas cooperativas de intermediação de mão de obra, isso não se aplica, uma
vez que, no geral, mantém-se a estrutura hierárquica de uma fábrica ou
empresa comum.
Nas fábricas recuperadas, a diversidade também é grande, indo da per-
manência das hierarquias anteriores à sua eliminação total, além do questio-
namento das direções sobre a indisciplina, uma vez que às vezes os trabalha-
dores consideram que não ter chefes é fazer o que bem entendem. Com isso,
torna-se difícil estabelecer modelos dominantes nessas empresas de autoges-
tão, que dependem do histórico de cada uma e do desenrolar de suas ativi-
dades com maior ou menor sucesso.
Concluindo
Essas questões fornecem um painel dos dilemas do trabalho associado en-
quanto alternativa ao trabalho assalariado, e dos problemas e algumas dificul-
dades enfrentados por cooperativas e fábricas recuperadas. Embora tenhamos
afirmado que as cooperativas no Brasil não resultaram da mobilização dos tra-
balhadores, mesmo onde esses movimentos aconteceram – como na Argenti-
na, no início dos anos de 2000, e considerando ainda a maior politização da-
11.Os trabalhadores queles trabalhadores11 –, os problemas enfrentados não têm sido diferentes.
argentinos sempre fo- Depois da ocupação, vem a consolidação, ou seja, os problemas apenas come-
ram considerados os
çam. Pesquisas realizadas com cooperativas argentinas demonstram as difi-
mais mobilizados da
América Latina.
culdades de consolidação enfrentadas, como falta de apoio estatal, problemas
de mercado, dificuldade dos trabalhadores de entenderem o significado da
autogestão, a organização dos trabalhadores, entre outros (cf. Pereira, 2007).
Diferentemente da discussão dos anos de 1990, em que as cooperativas
eram encaradas como forma de emancipação ou de rebaixar custos, os pro-
blemas de consolidação das cooperativas têm levantado novas questões re-
ferentes à gestão profissional desses empreendimentos. Entidades como a
Anteag têm investido em cursos de formação de gestores para qualificar os
trabalhadores para a gestão. Com a recuperação econômica do país nos
primeiros anos da década, notam-se hoje situações pontuais de recuperação
de fábricas e de organização de cooperativas, principalmente as de produ-
ção industrial. O crescimento do setor continua nas chamadas cooperativas
128 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 128 7/7/2009, 17:11
Jacob Carlos Lima
populares, de inserção social, como parte de políticas sociais do Estado
brasileiro em diversos níveis12. A discussão sobre economia solidária tem se 12.Em 2003 foi cria-
expandido para várias formas de organização, sendo a cooperativa uma de- da a Secretaria Nacio-
nal de Economia Soli-
las. No movimento sindical, mesmo com a criação da Agência de Desen-
dária, que coordena a
volvimento Solidário (ADS) pela CUT e o apoio aos empreendimentos política nacional de
considerados “autênticos”, não existe consenso sobre a viabilidade e o cará- apoio aos empreendi-
ter não precarizador das cooperativas. mentos considerados
Como tendência, os dados disponíveis apontam para a normalização solidários, nos quais se
das cooperativas e das experiências de fábricas recuperadas como uma pos- destacam as cooperati-
vas populares.
sibilidade de mercado, ao lado de outras formas de organização do trabalho
existentes, como ocorreu durante todo o século XX em diversos países eu-
ropeus. A diferença encontra-se na sua estratégia de geração de renda dian-
te do desemprego estrutural decorrente da reestruturação econômica e na
sua política de inserção social.
O caráter emancipatório presente no ideário cooperativista enfrenta a
crise do movimento operário e sindical, assim como projetos de sociedade
alternativa fundados na estrutura de classes e em sua dinâmica conflitiva.
Embora a classe não tenha desaparecido, sua heterogeneidade e fragmenta-
ção comprometeram projetos coletivos, e a economia solidária pode ser
vista como uma proposta de reconstrução de um projeto coletivo. Por en-
quanto a emancipação está mais no imaginário dos militantes do que no
dos trabalhadores participantes, como uma construção possível, desde que
parte integrante de um movimento social mais amplo. Situações pontuais
de sucesso apontam para a viabilidade da autogestão como forma de gestão
no mercado e para o mercado, mais do que uma alternativa a ele.
Referências Bibliográficas
ANTEAG. (2000), Autogestão: construindo uma nova cultura de relações de trabalho. São
Paulo, Anteag.
CABRAL, Guilherme R. E. (2004), Uma tentativa de implantação de uma cooperativa
autogerida: o desafio da participação na Cooperativa dos trabalhadores têxteis de con-
fecção e vestuário de Pernambuco Ltda. Dissertação de mestrado, UFPE.
CAVALCANTI, Clóvis (org.). (1988), No interior da economia oculta: estudos de caso de
uma pesquisa de avaliação do desenvolvimento de base no Norte e no Nordeste do
Brasil. Recife, Fundação Joaquim Nabuco/Massangana.
CLARO, Mauro. (2004), Unilabor: desenho industrial, arte moderna e autogestão operá-
ria. São Paulo, Editora Senac.
junho 2009 129
Vol21n1-d.pmd 129 7/7/2009, 17:11
Paradoxos do trabalho associado, pp. 113-132
C ORNFORTH , Chris. (2004), “The Governance of Cooperatives and Mutual
Associations: a Paradox Perspective”. Annals of Public and Cooperatives Economics,
75 (1): 11-32.
DAMATTA, Roberto. (1987), A casa & a rua: espaço, cidadania, mulher e morte no
Brasil. Rio de Janeiro, Guanabara.
GEORGES, Isabel & FREIRE, Carlos. (2007), “A naturalização da precariedade: trabalho
informal, ‘autônomo’ e ‘cooperativado’ entre costureiras em São Paulo”. In: LIMA,
J. C. (org.), Ligações perigosas: trabalho flexível e trabalho associado. São Paulo,
Annablume.
GUTIÉRREZ, Alfonso C. Morales. (1992), “Workers’ Cooperatives: Are They Intrinsically
Inefficient?”. Economic and Industrial Democracy, 13: 431-436.
HERRANZ, Roberto & HOSS, Dietrich. (1991), “División del trabajo entre centro y
periferia: cooperativas e industrialización difusa en Galicia”. Sociología del Traba-
jo, Nueva Época, 11, inverno de 1990-1991.
HOLZMANN, Lorena. (2001), Operários sem patrão: gestão cooperativa e dilemas da de-
mocracia. São Carlos, Editora da UFSCar.
KASMIR, Sharryn. (2007), “O modelo Mondragón como discurso pós-fordista”. In:
LIMA, J. C. (org.), Ligações perigosas: trabalho flexível e trabalho associado. São Pau-
lo, Annablume.
LIMA, Jacob C. (1998), “Cooperativas de produção industrial: autonomia e subordi-
nação”. In: CASTRO, Nadya A. & DEDECCA, Cláudio S. A ocupação na América
Latina: tempos mais duros. São Paulo/Rio de Janeiro, Alast.
_____. (2004), “O trabalho autogestionário em cooperativas de produção: o paradig-
ma revisitado”. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 19 (56): 45-74, out.
_____. (2007), “Trabalho flexível e autogestão: estudo comparativo entre cooperati-
vas de terceirização industrial”. In: LIMA, J. C. (org.), Ligações perigosas: trabalho
flexível e trabalho associado. São Paulo, Annablume.
LUXEMBURGO, Rosa de. (2001), Reforma o revolución. Buenos Aires, Longseller.
MARTINS, Sérgio P. (2003), Cooperativas de trabalho. São Paulo, Atlas.
MARX, Karl. (1977), “Manifesto de lançamento da Associação Internacional dos tra-
balhadores, 1864”. In: MARX, Karl & ENGELS, Friedrich. Textos 3. São Paulo, Edições
Sociais.
M ONDADORE , Ana Paula C. (2007), “As fases e faces de uma cooperativa
autogestionária”. In: LIMA, J. C. (org.), Ligações perigosas: trabalho flexível e traba-
lho associado. São Paulo, Annablume.
NASCIMENTO, Maria de Fátima M. (1993), “O próximo e o distante: histórias e estó-
rias de um bairro e uma fábrica de João Pessoa”. João Pessoa, Dissertação de mes-
trado em Ciências Sociais, UFPB.
130 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 130 7/7/2009, 17:11
Jacob Carlos Lima
OLIVEIRA, Fábio de. (2007), “Os sentidos do cooperativismo de trabalho: as coopera-
tivas de mão-de-obra à luz da vivência dos trabalhadores”. Psicologia & Sociedade,
19 (1): 75-83, edição especial.
PEREIRA, Maria Cecília C. (2007), Experiências autogestionárias no Brasil e na Argenti-
na. Campinas, Dissertação de mestrado, Unicamp.
ROSENFIELD, C. (2007), “A autogestão e a nova questão social: repensando a relação
indivíduo-sociedade”. In: LIMA, J. C. (org.), Ligações perigosas: trabalho flexível e
trabalho associado. São Paulo, Annablume.
SIMMEL, Georg. (1983), Sociologia. São Paulo, Ática.
SOUZA, André Ricardo. (2006), Igreja, política e economia solidária: dilemas entre a
caridade, a autogestão e a teocracia. São Paulo, Tese de doutorado, FFLCH-USP.
VIEITEZ, Candido & DAL RI, Neusa Maria. (2001), Trabalho associado: cooperativas e
empresas de autogestão. Rio de Janeiro, DP&A.
Resumo
Paradoxos do trabalho associado
Este artigo visa discutir a heterogeneidade do trabalho associado em cooperativas e
empresas autogestionárias, e dois de seus paradoxos originários: integração ou alterna-
tiva ao mercado capitalista, e trabalho autônomo ou subordinado. Apresentamos al-
guns dilemas enfrentados pelo trabalho associado a partir de experiências concretas
que refletem contextos, lugares, possibilidades e limites. Mais que uma forma de traba-
lho atípico ante o trabalho assalariado regular, o trabalho associado apresenta peculia-
ridades que refletem a própria dinâmica recente do capitalismo flexível e sua busca
constante por redução de custos. Procura-se discutir as cooperativas e empresas
autogestionárias em sua positividade como possibilidade efetiva de autonomia dos
trabalhadores; em sua negatividade, como resultante da precarização entendida como
perda de direitos sociais vinculados ao trabalho; e, numa terceira perspectiva, como
alternativa de inserção social para trabalhadores excluídos ou nunca inseridos no mer-
cado de trabalho formal.
Palavras-chave: Cooperativas de trabalhadores; Trabalho associado; Autogestão; Preca-
rização do trabalho; Vulnerabilidade social.
Abstract
The paradoxes of associated work
This article seeks to discuss the heterogeneity of associated work in cooperatives and
self-management companies and their two inherent paradoxes: integration with or an
alternative to the capitalist market, and autonomous or subordinated work. I examine
junho 2009 131
Vol21n1-d.pmd 131 7/7/2009, 17:11
Paradoxos do trabalho associado, pp. 113-132
various dilemmas faced by associated work on the basis of concrete experiences that
reflect contexts, places, possibilities and limits. More than simply an atypical variant of
work diverging from normal wage labour, associated work presents peculiarities that
reflect the recent dynamics of flexible capitalism and its constant pursuit of cost reduc-
tion measures. The article discusses various positive aspects of worker cooperatives and
self-management companies, including the possibility of promoting workers’ autonomy,
the negative aspects arising from the instability caused by the loss of social rights linked
to the work, and finally, from a third perspective, their potential as an alternative form
of social insertion for workers excluded from the formal job market.
Keywords: Workers’ cooperatives; Associated work; Social vulnerability; Self-manage-
ment; Job instability.
Texto recebido em 24/
6/2008 e aprovado em
25/9/2008.
Jacob Carlos Lima é
professor titular do De-
partamento de Sociolo-
gia da Universidade Fe-
deral de São Carlos. E-
mail: jacobl@uol.com.
br.
132 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 132 7/7/2009, 17:11
Briga de família ou ruptura metodológica
na teoria crítica (Habermas X Honneth)*
Pablo Holmes
*
Introdução Este trabalho foi rea-
lizado com auxílio do
CNPq.
Se tomássemos ao pé da letra as palavras de Axel Honneth, poderíamos
dizer que as divergências que seu trabalho apresenta em relação à teoria do
discurso desenvolvida por Jürgen Habermas realmente não passam do que
se poderia esperar de um debate como este: uma briga de família. Segundo
ele próprio, sua proposta “pode ser vista como um posterior desenvolvi-
mento do projeto teórico habermasiano” (Honneth, 2003c, p. 246), o que
dá a impressão de que suas ressalvas àquele permanecem no plano das me-
ras correções e retoques.
Não seria para menos. Ambos são os mais importantes herdeiros vivos
da Escola de Frankfurt, como se convencionou chamar os autores agru-
pados no Instituto de Pesquisas Sociais. Habermas, predecessor de Hon-
neth na direção do Instituto, foi aquele que, assistente de Adorno, ajudou
a dar continuidade à tarefa de construir uma teoria crítica da sociedade
que articulasse os motivos emancipatórios da filosofia materialista com as
contribuições das novas ciências sociais empíricas, o que realizou na for-
ma de uma teoria do discurso (cf. Wiggerhaus, 2000, pp. 573-599).
Honneth, ainda menos conhecido, foi aquele que, nos últimos anos, ten-
tou dar novo fôlego à tarefa crítica na forma de uma teoria do reconheci-
mento social.
Vol21n1-d.pmd 133 7/7/2009, 17:11
Briga de família ou ruptura metodológica na teoria crítica (Habermas X Honneth), pp. 133-155
Buscando um debate ativo entre os seus pontos de vista, investigaremos,
no entanto, a possibilidade de que aquela insinuação de Honneth acerca do
possível parentesco teórico não seja tão verdadeira. Observando o status
que o Estado e o direito assumem em sociedades que se diferenciaram a
ponto de perderem os conteúdos unificantes de tradições religiosas ou filo-
sófico-metafísicas, levantaremos a hipótese de que, graças a mudanças subs-
tanciais em seus pressupostos metodológicos, eles percorrem caminhos to-
talmente distintos e chegam a conclusões diferentes.
Nosso ponto de partida é o conceito de Modernidade como produto de
um processo de evolução social, ou melhor, de um processo de aprendizado
de competências integrativas que tomaram uma forma típica (cf. Dubiel,
1992, pp. 3-16). Esse ponto de partida, aliás, vale, ao menos parcialmente,
para ambas as teorias. Parcialmente pois que ambos partem de uma concei-
tuação genética das formas de integração social que leva a uma esfera de
consideração moral das ações sociais desde o ponto de vista de um princí-
pio de justiça que tem clara inspiração em Kant (cf. Honneth, 2003a, pp.
178-198, 2004a, pp. 16-25; Erman, 2006, pp. 377-400) e que levou à
estruturação de instituições político-jurídicas que se consubstanciaram no
Estado Democrático de Direito. Na sequência, porém, veremos que, em
suas possíveis repercussões da institucionalização do direito, os dois autores
divergem bastante.
O problema dos “horizontes éticos” em sociedades pós-tradicionais
De início, podemos dizer que Habermas sempre esteve receoso de reali-
zar aproximações ao que pudesse ser, no contexto da modernidade, um
conceito de “vida boa” – ou seja, o conjunto de virtudes que, no interior de
uma sociedade, reúna, em uma só interpretação, os ideais de justiça e felici-
dade. Ele deixou sempre evidente que esse debate, apesar de inevitável (cf.
2001b, p. 387), deveria ser colocado nos termos de uma abertura, a maior
possível, das instituições políticas e jurídicas para os mais diferentes modos
de realização pessoal, com a intermediação de uma moral social capaz de a
priori aceitar a todos como legítimos, tratando-os de modo neutro, dentro
dos limites jurídicos da produção procedimental de normas (cf. Idem, pp.
386ss.).
Para Habermas, parece que o desencadeamento do processo de moder-
nização de uma sociedade lhe dá, já, por natureza, de modo universalmente
válido, uma capacidade de mediação moral racional, formal e relativamen-
134 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 134 7/7/2009, 17:11
Pablo Holmes
te isenta de valores vinculantes próprios de culturas particulares em que se
socializam os indivíduos. Nesse modelo, os conteúdos éticos são considera-
dos apenas à luz de razões em que se apoiam consensos, mesmo que provi-
sórios, acerca de normas sociais estabelecidas no interesse de todos. A gag
rule, o impedimento da discussão acerca de questões éticas (axiológicas),
não vige, para Habermas, para os debates políticos travados no espaço pú-
blico, tanto o formal como o informal (cf. Idem, pp. 387ss.). Apesar disso,
parece-nos que ela vige de modo relativamente cogente para uma teoria
normativa da sociedade que não pode dizer mais que os critérios de igual
consideração de todas as possibilidades de autorrealização de um modo
normativamente neutro (cf. Idem, pp. 386-393), o que podemos interpre-
tar como uma hipostasiação do princípio da igualdade jurídica como o
único capaz de ser considerado um critério para a justiça social. Na mesma
direção, o capitalismo, compreendido como conceito quase análogo ao de
Modernidade, vê-se legitimado como o ponto culminante de um processo
evolutivo mediante o qual esferas neutras de reprodução social material,
desacopladas das regulações elaboradas em linguagem ordinária, associam-
se apenas indiretamente aos procedimentos legislativos da esfera pública
formal1. 1.Devo a intuição de
É contra essas pretensões formalistas que se levantam algumas das obje- que a teoria do discur-
ções mais relevantes à teoria habermasiana. Comunitaristas, como Taylor, so pode ser uma legi-
timação geral do capi-
ou mesmo os teóricos críticos mais sensíveis às implicações ideológicas e
talismo à conversa com
idealistas de uma tal formulação, como Wellmer, veem nisso a raiz de uma o professor Marcelo
falsa consciência etnocêntrica que compreende o processo de moderniza- Neves.
ção como o único processo possível de desenvolvimento das instituições
normativas humanas. Para eles, a teoria habermasiana fixaria de modo por
demais pretensioso um padrão evolutivo sem levar em conta as possíveis
particularidades de formas de vida alternativas. Segundo esses autores, tal
concepção poderia levar a uma perda gradativa dos sentidos comuns, que
são os únicos aptos a fazer dos indivíduos seres realizados, em harmonia
com suas próprias convicções e sentimentos, e fiéis a valores que fazem
inevitavelmente parte de suas autocompreensões (cf. Taylor, 1993, pp. 43-
107, 2002, pp. 35-52). Nesse sentido, só sendo fiel consigo mesmo poder-
se-ia evitar o surgimento de uma nova relação de servidão, depois do fim
das instituições tradicionais pré-modernas, desta feita em face de um impe-
rativo categórico formal que ordenaria uma ruptura irracional com as for-
mas de vida originais de grupos socializados em uma cultura própria (cf.
Taylor, 1994, pp. 49-65; Wellmer, 1987, pp. 101 ss.; Melo, 2002, p. 64;
junho 2009 135
Vol21n1-d.pmd 135 7/7/2009, 17:11
Briga de família ou ruptura metodológica na teoria crítica (Habermas X Honneth), pp. 133-155
Nicholson, 1996, pp. 1-16). A tentativa de Habermas de abandonar a ex-
pressividade particularista das formas de vida concretas com vistas à formu-
lação do ponto de vista normativo de uma Ética do Discurso é vista, ao
final, como o inchaço de determinada forma de vida particular (a ociden-
tal), com um consequente empobrecimento da diversidade cultural (cf.
Taylor, 1994, pp. 37-47).
Objeções como essas são o ponto de engate para uma reformulação da
teoria crítica nos termos de uma teoria social do reconhecimento, como a
proposta por Axel Honneth. Esta, aliás, parece-nos ser realizada a partir da
intuição de que a moral é sempre uma moralidade social cuja origem deve
ser identificada em padrões culturais de julgamento valorativo, vinculados
àquilo que a tradição filosófica chamava eticidade; justo aquele elemento
que Habermas assinalava como “perdido” no processo de transição para a
2. Em várias passagens Modernidade2. Ao mesmo tempo, Honneth parece querer fazer crer que é
Habermas usa o termo possível reconstruir os processos evolutivos das formas sociais modernas de
“perda da eticidade”
vida a ponto de se ter um padrão geral, sob estas condições, do que seja a
para identificar o soca-
vamento do mundo da
constituição de uma vida boa (cf. 2003a, pp. 269ss., 2003b, pp. 170-189).
vida tradicional pelo Ou seja, crê ser viável, num sentido aristotélico3, descrever a vida boa sob
processo de diferencia- condições modernas, sem que se caia na arriscada aventura romântica dos
ção social e desacopla- comunitaristas que anseiam por uma correspondência mais que apenas for-
mento entre sistema e mal entre os anseios individuais de realização e os fins sociais vinculantes
mundo da vida. Ver,
graças ao compartilhamento de uma língua, uma história e uma cultura
por exemplo, Haber-
mas, 2003c, pp. 169 ss. comuns. Essa reformulação teórica deveria, no entanto, levar em conta como
centro de toda teorização – e isso é o fundamental – os processos dinâmicos
3.Sobre o significado
do termo neoaristote- e contingentes de formação de padrões normativos institucionalizados, da-
lismo e suas implica- dos exclusivamente por meio de uma sucessiva confirmação recíproca da
ções para o pensamen- validade de pretensões de reconhecimento (cf. Honneth, 2004a, pp. 351-364).
to contemporâneo, ver É a partir dessa intuição que Honneth se lança o desafio de elaborar
Schnädelbach, 1986,
uma teoria do reconhecimento social a que chama “suficientemente dife-
pp. 38-63.
renciada” (2003a, pp. 253-259) e que seja ainda capaz de utilizar um voca-
bulário crítico para descrever aquilo que possa ser apontado como patolo-
gias sociais. A teoria crítica deveria levar em conta, então, o fato de que os
implicados em relações sociais normativamente articuladas sempre estão
submetidos a pressões interpretativas que se desenrolam nas media repre-
sentadas pelos processos de luta e reconhecimento (cf. Idem, pp. 253-268).
A reconstrução estaria enquadrada num modelo segundo o qual as inter-
pretações de si, dos outros e do mundo dependeriam do reconhecimento
recíproco de confrontantes responsável por estabelecer o nível vigente das
136 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 136 7/7/2009, 17:11
Pablo Holmes
relações normativamente mediadas (cf. Idem, pp. 253ss.; Wellmer, 1987,
pp. 145ss.). A descrição teórica bem-sucedida abriria a possibilidade de
uma revelação das condições segundo as quais cada indivíduo pode desen-
volver uma autorrelação prática intacta de experiências de sofrimento, hu-
milhação e desrespeito social. Sob condições modernas, deveríamos desco-
brir, nos meios vigentes no interior dessa forma de vida, quais seriam então
as autorrelações práticas que possibilitariam o gozo de condições atuais de
vida boa.
O abismo entre moralidade e eticidade na filosofia prática
Essa discussão suscita uma querela de fundo bem mais abrangente. Sem
querer nos deixar dispersar por essa discussão, articulada em termos bem
particulares, os quais exigiriam um aprofundamento por ora dispensável aos
nossos propósitos, na filosofia prática kantiana e na ética de Aristóteles, de-
vemos ao menos preliminarmente explicitar de modo geral os seus termos.
Trata-se do debate referente ao abismo entre “eticidade” e “moralidade”, que
podemos traduzir por uma disputa entre convicções liberais universalistas e
convicções de inspiração comunitária, denominadas “particularistas”4. 4. Sobre a pertinência
De um lado, podemos dizer que o grande mérito das filosofias morais de tal distinção entre
“ética” e “moral”, com
de inspiração kantiana, como a do próprio Habermas, é reivindicar que
extenso apoio bibliográ-
jamais a noção de “bem” pode ser confundida com outra, moralmente fun- fico, ver Forst, 2001,
dada sobre parâmetros universalistas, de “justo” (cf. Forst, 2001, pp. 345- pp. 34ss.
347). O móvel da ação justa, como assinalara Kant, deveria ser somente o
próprio dever e jamais qualquer motivo teleológico, qualquer finalidade,
por assim dizer (cf. Kant, 1951a, p. 60). Na explicação de Habermas, o
“bem”, na realidade, guardaria a marca de ser sempre um “bem” para “nós”,
tendo de se haver fatalmente com outras concepções de “bem” que se mate-
rializam em outras finalidades para “outros” diferentes de “nós” que, a ri-
gor, dificilmente podem ser conciliados (2001b, p. 163). A ética kantiana
do “dever” quer ser, por isso, para além de uma ética de valores, uma ética da
justiça. Segundo ela, o que valeria como justo deveria distinguir-se clara-
mente, por via de sua universalidade, do que vale como um bem (cf. Forst,
2001, pp. 348-349). O justo estaria fundado na razão e sua pura forma,
enquanto o bem seria sempre algo material, talhado por interpretações de
grupos particulares acerca de valores e costumes virtuosos, padecendo, por-
tanto, de um grau de contingência que só pode ser eliminado pelos meios
racionais que são, por definição, os mesmos para todo ser racional. Como
junho 2009 137
Vol21n1-d.pmd 137 7/7/2009, 17:11
Briga de família ou ruptura metodológica na teoria crítica (Habermas X Honneth), pp. 133-155
sabemos, tal raciocínio leva a uma concepção como a de Kant, para quem a
única lei prática que pode haver é aquela que estabelece a universalidade de
um mandamento, como vinculante, sem exceções (cf. Kant, 1951b, p. 499).
A tradição aristotélica, por sua vez, sempre apontou a necessidade de que
houvesse valores em que fundamentar um conceito de justiça. Esses valores
tomariam a forma de virtudes e sentidos teleológicos compartilhados por
comunidades que, em conjunto, buscariam realizá-los na sua prática co-
mum (cf. Lehman, 2006, pp. 347-376). Só com a consecução e a promoção
das virtudes próprias de um povo poderiam os homens alcançar a “vida
boa”, a qual, como já dissemos, reuniria em si os ideais de felicidade e justiça
(cf. Habermas, 1999a, pp. 81ss., 1999b, pp. 193-211; Schnädelbach, 1986,
pp. 38-42). Como nos mostra Günther, para Aristóteles o princípio formal
de justiça serviria apenas para fazer julgar de forma igual casos iguais, algo
que por si só não tem o sentido de um princípio moral como aquele kantia-
no, que serviria para fundamentar as próprias normas com que julgamos
(cf. Günther, 2004, pp. 263-267). Com efeito, para Aristóteles, as decisões
concretas não estariam informadas por normas válidas universalmente des-
de uma posição teórica originária (cf. Wolf, 2001, pp. 275-276), mas por
uma faculdade de julgar que se orientaria de acordo com os critérios de vir-
tude oferecidos pela tradição política de um povo (cf. Aristóteles, 1956,
1141b). Seguindo a crítica de Wellmer à teoria do discurso, poderíamos
dizer que caberia somente à experiência, radicalmente contingente, de indi-
víduos dotados de discernimento moral graças à aquisição de conhecimen-
tos éticos compartilhados no contato com confrontantes sociais a aquisição
de uma sensibilidade contextual com que se poderiam tratar as situações
concretas de um modo “moralmente” adequado (cf. Wellmer, 1987, pp. 77-
105, 125-135). Para Aristóteles, esse era o espaço da praxis, da contingência
irredutível das possibilidades de ação humana que só poderia ser trazida à
ação consciente por via de uma educação para a virtude na experiência prá-
tica de vida, algo que culminaria na phronésis como uma sabedoria prática
para julgar corretamente (1956, 1139b). Uma postura que, por fim, jamais
se poderia confundir com aquela, platônica, de um julgamento imparcial de
acordo com critérios universais válidos a priori, graças “à impossibilidade de
qualquer conhecimento último e definitivo sobre a vida boa” (Wolf, 2001,
p. 273), a qual é a maior inspiradora do kantismo moral (cf. Schnädelbach,
1986, pp. 38-63; Habermas, 2004, p. 314).
Para os teóricos de inspiração aristotélica, portanto, as teorias morais não
teriam muito a contribuir para a resolução de problemas práticos efetivos. A
138 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 138 7/7/2009, 17:11
Pablo Holmes
contingência de situações sempre únicas conduziria à necessidade de uma
educação moral levada a cabo na própria vida prática, e não na contempla-
ção teórica (cf. Wolf, 2001, p. 275). Segundo Aristóteles, a rigor, não pode-
ria nem mesmo haver ensino sobre o que é ser “bom” e “virtuoso” (1956,
1140a); o “justo” jamais poderia ser diferenciado do “bem”, pois que somen-
te por meio de um aprendizado em comum, no interior de uma comunida-
de, os indivíduos adquiririam a sensibilidade para saber o que é “bom” para
eles, o que, trasladado para a política, revelaria o que fosse “bom” para todos.
Não é sem motivos, porém, que Habermas escolhe a via de uma recons-
trução da ética kantiana da justiça para a fundamentação de uma teoria
crítica da Modernidade. Segundo ele, aqueles que querem retomar pers-
pectivas conteudistas vinculadas a concepções de vida boa têm de se haver
com o fato de que, em sociedades modernas, há uma “multiplicidade de
ideias acerca do bem viver” que não podem ser de antemão eliminadas
como interpretações válidas (1999a, p. 87), senão por procedimentos que
as considerem de modo o máximo possível imparcial e à luz dos interesses
de todos os possíveis implicados. Ao resgatar as concepções de vida boa, a
tradição neoaristotélica estaria, segundo ele, outra vez, atada a éticas parti-
culares que perdem de vista o potencial emancipatório da autodeterminação
que pretende colocar em jogo as próprias tradições em que estamos inseri-
dos (cf. Idem, pp. 89-91). A consequência seria uma tendência filosofica-
mente conservadora e politicamente totalitária (cf. Schnädelbach, 1986,
pp. 53ss.), que tenderia a excluir, de antemão, como confrontantes dotados
de iguais direitos, aqueles que não compartilhassem dos mesmos valores
inegociáveis a que se vinculam os indivíduos de uma tradição particular (cf.
Long, 2003, pp. 209-240).
A ruptura metodológica como uma transformação hermenêutica da
teoria crítica por meio do reconhecimento social em Axel Honneth
Honneth sabe bem o terreno movediço em que pode estar pisando ao
retomar o conceito de vida boa sob formas modernas de vida. Ele se sabe na
obrigação de justificar bem esse recurso à esfera de valores particularistas
para que não recaia em um conservadorismo autoritário. Nas suas palavras,
uma teoria da sociedade moderna que postule um conceito de “vida boa”
terá de estar atenta ao “risco de tornar-se uma interpretação de determina-
dos ideais de vida historicamente singulares” (2003a, p. 272) e, assim, in-
correr na falácia etnocêntrica. Para valer, uma tal teoria terá de ser, portan-
junho 2009 139
Vol21n1-d.pmd 139 7/7/2009, 17:11
Briga de família ou ruptura metodológica na teoria crítica (Habermas X Honneth), pp. 133-155
to, uma teoria pós-metafísica da eticidade, cujos padrões sejam os mais
formais possíveis para que, sem deixar de conceituar a ideia de “vida boa”
no nível teórico, possa deixar em aberto as mais distintas opções de autor-
realização.
Para ele, está claro que, se fosse possível formular teoricamente tanto
uma referência à ideia de autonomia individual kantiana – na medida em
que cada opção deve ter seu espaço garantido de valorização, nos termos da
autonomia privada – como uma referência à ideia substancial de autorreali-
zação romântica, de inspiração aristotélica – representada naquele espaço
em que se adquire um valor social satisfatório para as opções particulares –,
poderíamos chegar a uma concepção moderna de vida boa, ou como ele de-
nomina: uma concepção de “eticidade formal”. Essa, aliás, deveria ser a prin-
cipal tarefa da teoria crítica da sociedade, o que é feito por Honneth graças
ao fato de que, para ele, a autorrealização em condições modernas não preci-
sa ser compreendida como a defesa de uma forma de vida particular (cf.
Idem, p. 173). Ela seria, em lugar disso, o resultado de uma ampliação
gradativa das possibilidades expressivas dos indivíduos mediante um pro-
cesso crescente de reconhecimento recíproco entre confrontantes sociais. O
reconhecimento seria, assim, o medium em que se daria a construção, na
modernidade, da eticidade formal.
A teoria do reconhecimento trataria dos níveis em que os sujeitos podem
se ver certificados da validade de suas demandas por reconhecimento diante
de outros confrontantes. Uma pretensão teórica que, em sociedades moder-
nas reguladas juridicamente por princípios igualitaristas, assume a forma de
uma diferenciação – sempre à mercê de verificação e novas lutas por reco-
nhecimento – entre três tipos de conhecimento que os sujeitos podem de-
senvolver acerca de sua própria personalidade, autorrelações práticas a que
Honneth chama de autoconfiança, autorrespeito e autoestima (cf. Idem, p.
272). Segundo Honneth, cada uma dessas maneiras de o sujeito se referir a
si próprio corresponderia, por sua vez, ao desenvolvimento de uma esfera
específica na qual se diferenciariam as relações intersubjetivas: elas seriam,
respectivamente, a das relações afetivas, nas quais se ganharia autoconfiança
e que seria regulada pela afetividade; a da moral e do direito, em que se ga-
nharia o autorrespeito e que seria regulada pelo princípio da igualdade jurí-
dica; e a da eticidade ou solidariedade social, em que se ganharia a autoestima
e que seria regulada pelo princípio do mérito (cf. Idem, pp. 138-144).
Para ele, além de uma representação evolutiva das formas de vida mo-
dernas, com a identificação do entendimento como o meio característico
140 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 140 7/7/2009, 17:11
Pablo Holmes
de coordenação das ações em sociedades que perderam as eticidades tradi-
cionais vinculantes desde a origem, é preciso fazer referência aos pontos de
vista normativos por via dos quais os próprios sujeitos podem se ver como
formados de modo satisfatório nas suas capacidades de autorreferência. Po-
demos dizer que as divergências entre Honneth e Habermas se tornam,
então, nesse ponto, mais perceptíveis. E é aí que podemos falar, portanto,
de uma ruptura metodológica que significa muito mais que uma mera “briga
de família”.
Honneth argumenta que a teoria da ação comunicativa, assim como a
tradição frankfurtiana, padeceria de um déficit sociológico (cf. Honneth,
2003d; Nobre, 2003, pp. 15ss.). Poderíamos acreditar, então, que uma
sociologização da teoria comunicativa pudesse ser suficiente para salvar suas
pretensões críticas, sem que houvesse necessidade de abandonar os funda-
mentos de seu diagnóstico. Mas, depois de analisarmos com cuidado os
fundamentos de ambas as leituras teóricas, vamos perceber que essa com-
preensão é insuficiente e, no mais, pouco atenta às diferenças fundamentais
entre os dois autores.
No caso da tradição que houvera levado à dialética do esclarecimento,
aquele déficit sociológico teria tomado a forma de uma universalização an-
tropológica da razão instrumental que redundava num abandono da nor-
matividade social em nome de uma noção transcendental de autorreprodu-
ção que encontrava elaboração conceitual exatamente na ideia
compartilhada, entre a primeira geração, de uma “razão administrativa” (cf.
Marcuse, 1978, pp. 23-40), uma “razão calculadora” (cf. Adorno e Horkhei-
mer, 1987, pp. 19-80), uma razão instrumental (cf. Horkheimer, 1969, pp.
18-69) etc. (cf. Honneth, 2003b, pp. 114-117, 2000c, pp. 89-92; Holmes,
2008). Habermas, que estava atento a essa “ausência de normatividade” da
teoria crítica como elaborada pela dialética do esclarecimento (cf. Habermas,
2003a, pp. 482-488), houvera, porém, em seu debate com a tradição her-
menêutica e mediante a sua recepção de Apel (cf. Idem, pp. 182 ss., 1987,
pp. 29 ss.), tributado todas as ambições da crítica social a um conceito de
comunicação não constrangida que, embora contenha o núcleo normativo
com que tem de contar qualquer teoria crítica da sociedade, parecia atri-
buir seu conteúdo a uma estratégia de fundamentação isenta daqueles que
são os processos em que as sociedades constituem sua própria identidade e
sua própria normatividade (cf. Honneth, 2000c, pp. 96-98).
Para Habermas, como sabemos, as patologias sociais deveriam ser des-
critas, sob condições modernas, a partir de um padrão formal que poderia
junho 2009 141
Vol21n1-d.pmd 141 7/7/2009, 17:11
Briga de família ou ruptura metodológica na teoria crítica (Habermas X Honneth), pp. 133-155
ser formulado de acordo com um cânone de regras pertinentes às condições
não constrangidas de comunicação (2003a, pp. 364ss., 2003b; Honneth,
2000c, pp. 101-103). Num primeiro nível, a teoria da evolução social ela-
borada reconstrutivamente lhe serviria de descrição dos processos de libera-
ção dos potenciais de coordenação da ação mediante as pretensões de vali-
dade criticáveis contidas em atos de fala ilocucionários de tipo regulativo
(cf. Habermas, 2003a, pp. 389-391, 1983, pp. 11-48). Nesse sentido, um
processo de linguistização do sacro teria cumprido as condições sociais que
já estariam relativamente definidas – ou, por que não, previstas – nas con-
dições de comunicação próprias da espécie (cf. Habermas, 2003a, pp. 37ss.).
Por outro lado, o diagnóstico das patologias da modernidade era formula-
do mediante a ideia de uma colonização interna do mundo da vida (cf.
Habermas, 2001a, pp. 515ss.). De acordo com essa estratégia teórica, os
fatores responsáveis pelo constrangimento das condições de coordenação
proporcionadas pela ação comunicativa seriam, em condições avançadas
do capitalismo, aqueles referentes a uma formalização das interações sociais
graças à intrusão, em esferas do mundo da vida, de meios de comunicação
deslinguistizados como o dinheiro e o poder (cf. Idem, pp. 516ss., 2001b,
pp. 130-145; Honneth, 2000c, pp. 101ss.).
Se compreendemos bem, a superação do “déficit sociológico” depende-
ria, na realidade, de uma transformação hermenêutica da teoria crítica que
se apoiaria, em última análise, numa ruptura metodológica em relação à
interpretação teórica da modernidade como horizonte normativo. Assim,
se em Habermas a moralidade assume a prevalência metodológica para o
diagnóstico das patologias sociais em quaisquer sociedades, já que ela é
compreendida como um saber cultural contido, implicitamente – mesmo
na última formulação de sua teoria (cf. Habermas, 2004, p. 30) –, nas
condições pragmáticas formais da linguagem não constrangida (cf. Haber-
mas, 2003a, p. 379, 2001b, pp. 171ss.), para Honneth resta claro que “o
potencial normativo das interações sociais não pode ser simplesmente igua-
lado às condições linguísticas de entendimento isento de coação” (Hon-
neth, 2000c, p. 98). Mais ainda, resta evidente “que não é a orientação por
princípios morais positivamente formulados, senão as experiências de frus-
tração de concepções intuitivamente dadas de justiça, que servem de base
motivacional para o comportamento de protesto” (Idem, p. 99) capaz de
fornecer os critérios normativos de uma teoria crítica. A modernidade seria
o resultado, portanto, não de um processo de evolução como desdobra-
mento de competências comunicativas, mas de um processo de interpreta-
142 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 142 7/7/2009, 17:11
Pablo Holmes
ções contextuais que só podem ser atribuídas ao mundo da vida dos pró-
prios implicados (cf. Honneth, 2000b, p. 57). Não é à toa que Honneth
afirma que uma teoria da justiça e da liberdade sob condições modernas é
de certa forma “dependente de um diagnóstico do tempo” (2004b, p. 284).
Para ele, o universalismo jurídico constitui-se a partir de uma concepção
teleológica de liberalismo (cf. 2004a, pp. 357ss., 2004b, pp. 389ss.), que
seria o resultado das condições “internas” de articulação de normatividades
no interior de uma comunidade de valores (cf. 2004b, pp. 385, 389). Aos
lembrarmos da crítica de Albrecht Wellmer a Habermas (1987) – tachada,
aliás, de neoaristotélica pelos seguidores do último (cf. Günther, 2004, pp.
84-87) –, sabemos que não é mero acaso que Honneth faça referência dire-
ta a ele ao tratar do problema da aplicação situacional de padrões jurídicos
e morais de reconhecimento (cf. Honneth, 2003a, p. 186, n. 77). É com
referência a interpretações de situações, com referência a uma faculdade de
julgar radicalmente contextual, que os indivíduos levam adiante as repre-
sentações prático-simbólicas de seu mundo da vida social (cf. Wellmer, 1987,
pp. 87, 149ss), e não a partir de discursos aplicativos imparciais (cf. Gün-
ther, 2004, pp. 299-358; Habermas, 2001b, pp. 287-289).
Certamente Habermas estava consciente de que apenas mediante ele-
mentos da evolução social a que ele chama “externos” – e que consistiriam
inclusive em lutas por reconhecimento – poder-se-ia realizar o processo de
liberação dos potenciais de coordenação da ação comunicativa (cf. 2002,
pp. 422ss., 2003a, pp. 480ss.). Se uma “ressociologização” da teoria crítica
se limitasse, contudo, a esse “recurso à sociedade e ao conflito social” como
forma de “construção” da modernidade universalista – algo que Habermas
teria realizado, com efeito, em seu “Trabalho e interação” (cf. Habermas,
1997; Nobre, 2003, p. 119) –, a contribuição de Honneth não passaria,
realmente, de uma continuação – enfim supérflua – da obra habermasiana.
É exatamente porque, para Honneth, “a moralidade social pode também
ser entendida como uma articulação normativa de princípios que gover-
nam o modo pelo qual os sujeitos se reconhecem em uma dada sociedade”
(2003b, p. 181, grifo nosso), que podemos dizer que ele dá uma contribui-
ção original, que o diferencia de Habermas. No mais, se essa diferenciação
já estava sugerida na atenção aos “sentimentos de desrespeito social” em
detrimento das condições de comunicação (cf. Honneth, 2000c, p. 98), ela
se tornou ainda mais clara nos últimos anos. Nesse sentido, aquilo que, em
suas próprias palavras, significaria um “giro historicista” de sua teoria (cf.
Honneth, 2004a, p. 358, n. 4) torna explícito o que parece ter sido enco-
junho 2009 143
Vol21n1-d.pmd 143 7/7/2009, 17:11
Briga de família ou ruptura metodológica na teoria crítica (Habermas X Honneth), pp. 133-155
berto graças a uma hesitação inicial em romper com a ideia de uma racio-
nalidade comunicativa normativamente reguladora. A ideia de um “giro
historicista” é, aliás, mencionada exatamente em resposta à crítica, ofereci-
da por Zurn, de que Honneth não havia deixado claro em que fazia assen-
tar as pretensões normativas de sua Eticidade Formal: (a) se em uma re-
construção da racionalidade comunicativa habermasiana; (b) se em uma
atualização naturalista de Hegel; (c) ou mesmo se em uma crença metafísi-
ca de inspiração aristotélica numa natureza humana (cf. Zurn, 2000). Se
são as experiências pessoais interpretadas como traumáticas que “são o nú-
cleo normativo daquelas concepções de justiça que determinam as expecta-
tivas que valem como aquelas de respeito, dignidade, honra e integridade”
(Honneth, 2000c, p. 99), temos de dizer que a construção da moralidade
social é dependente de interpretações dos próprios implicados (cf. Honneth,
2000b, p. 68) que não podem ser atribuídas à “estrutura de uma ação co-
municativa”, senão têm de remontar a uma “concepção antropológica que
substitua a pragmática universal habermasiana” (Honneth, 2000c, p. 101).
Aliás, se tivéssemos, “para apontar experiências sociais como patológicas,
que recorrer a determinados desenvolvimentos da vida social a partir de
pretensões contexto-transcendentes, a filosofia social estaria não menos que
perdida” (Honneth, 2000b, p. 68).
Se, para Habermas deveria valer, ao lado da posição de segunda pessoa
incluída no mundo da vida como intérprete (cf. 2002, pp. 417ss., 478),
responsável pela construção intuitiva de uma pragmática empírica (cf.
2003a, pp. 367ss.), uma posição de terceira pessoa – referente a um observa-
dor – que permitiria o abandono dos contextos concretos de atuação em
favor de uma transcendentalidade acontextual, responsável em última aná-
lise pela reconstrução ontologicamente neutra do próprio mundo da vida
por meio de uma pragmática formal (cf. Idem, pp. 419ss., 2002, pp. 511ss.,
2001b, pp. 401ss.; Holmes, 2008, pp. 29-32), para Honneth, “como ‘o con-
ceito de normalidade’ de uma sociedade têm de valer as condições cultural-
mente dependentes que permitem aos seus membros uma forma infrangível
de autorrealização” (2000b, p. 57). Ou seja, para ele é o mundo da vida que
serve de fonte exclusiva para identificação de patologias sociais (cf. Hon-
neth, 2000c, pp. 55ss.; Nobre, 2003, pp. 13, 15ss.), algo que exige a inserção
radical em uma comunidade de valores, mesmo no interior da modernidade
(cf. Honneth, 2000d). Desse modo, o caráter contexto-transcendente da teo-
ria habermasiana, tão bem analisado, aliás, pelo mesmo Wellmer (1987, pp.
96-119), não deixaria a possibilidade de que insistíssemos na interpretação
144 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 144 7/7/2009, 17:11
Pablo Holmes
da obra de Honneth como uma “reconstrução” interna e metodologica-
mente compatível da teoria da ação comunicativa. Isso, a nosso ver, seria o
mesmo que dizer que, por mencionar a ideia de uma “reconstrução do ma-
terialismo histórico” (cf. Habermas, 1983), o trabalho de Habermas repre-
sentaria uma continuação metodológica de Marx, algo que só pode ser pen-
sado se deixarmos de lado tudo que não seja a intenção de realizar uma
teoria crítica da sociedade capitalista, algo que por sinal era também a inten-
ção de Horkheimer, Adorno, Marcuse e, por que não, em outros termos,
Heidegger, Foucault, Nietzsche, entre outros.
É muito claro que a leitura de Honneth da obra de Habermas tem,
sobretudo nos últimos anos, um caráter que não se limita a uma crítica da
recepção, por este último, do funcionalismo luhmaniano (cf. Honneth,
2003b, p. 142). Ela se dirige, isto sim, à própria noção de que a modernida-
de pode ser explicada a partir de um núcleo normativo pragmático-
linguístico. Se Honneth elogia a inclusão, na obra habermasiana tardia, da
consideração de discursos de autoentendimento (cf. Honneth, 2000b, p.
64), sua preferência parece ser, porém, como arma de identificação das pa-
tologias sociais, “uma antropologia fraca e formal que leve em conta a des-
truição da filosofia social clássica realizada por Nietzsche e Foucault” (Idem,
pp. 54ss.), cujo maior erro houvera sido, aliás, uma tendência “em tratar
como condições universais de autorrealização humana aquelas formas de
atividade cuja valorização no mais das vezes é bastante seletiva e limitada a
ideais de vida temporalmente determinados” (Idem, p. 59). Ao darmos aten-
ção, no começo do artigo, à distinção entre moralidade e eticidade na obra
de Habermas e nas teorias do reconhecimento, queríamos exatamente in-
dicar que, embora a ruptura metodológica entre ambos comece na fonte
concreta dos diagnósticos normativos da teoria crítica – nessa identificação
das experiências morais e locais de desrespeito –, ela remonta a um nível
filosófico em que a moralidade perde o caráter de fonte última da
normatividade, sem perder seu papel de fonte crítica, o que se dá, entretan-
to, apenas mediante um diagnóstico do tempo moderno, de modo que é a
eticidade que ganha a prevalência metodológica. Ao mesmo tempo, se a
eticidade se torna a única ferramenta com que pode contar a teoria crítica
para apontar experiências sociais como patológicas, uma teoria de socieda-
des modernas capitalistas teria de se apoiar em um diagnóstico capaz de
delinear as condições de integração saudável sob essas circunstâncias. É aí
que emerge, então, a intuição de Honneth acerca de uma Eticidade For-
mal. Esse conceito teria capacidade de dar atenção a formas de injustiça
junho 2009 145
Vol21n1-d.pmd 145 7/7/2009, 17:11
Briga de família ou ruptura metodológica na teoria crítica (Habermas X Honneth), pp. 133-155
social que, na teoria habermasiana, poderiam ser tratadas apenas de modo
incompleto. Para uma comparação desses dois níveis de uma crítica da so-
ciedade, passemos então a uma breve análise dos dois modelos de Estado
Democrático de Direito. Se para Habermas, porém, o Estado assume a
forma de uma autorregulação da sociedade por meio de um desdobramen-
to (Entfaltung) dos potenciais coordenativos da ação comunicativa (cf.
2001b, pp. 130ss.), para Honneth este parece tomar a forma de um libera-
lismo teleológico que diagnostica as condições atuais da ideia de liberdade
(2004b, pp. 385, 389).
Estado de Direito e idealismo: a tensão entre faticidade e validade em Jürgen
Habermas
Para além das diferenças que possa haver entre os dois teóricos quanto
ao papel da teoria social, o direito é visto, por ambos, como algo central na
transição para a Modernidade. Depois da perda daqueles conteúdos tradi-
cionais que outrora ofereciam um amálgama normativo em que a integra-
ção social podia se realizar de modo mais ou menos aproblemático, a coor-
denação das ações sociais torna-se possível apenas por meio de princípios
formais de igualdade de tratamento que possam superar o vazio deixado
(cf. Habermas, 2001a, pp. 200-210, 2003a, pp. 146-172, 2001b, p. 163;
Honneth, 2003b, p. 182, 2004a, pp. 358-363, 2000b, pp. 282-309).
Para Habermas, o direito assume, em sociedades a que chama descentra-
das, a tarefa de mediar as tensões entre uma esfera ideal, na qual os sujeitos se
compreendem como membros iguais de uma comunidade política, e as es-
feras descomplementares, em que essas pretensões encontram as mais diver-
sas resistências do ponto de vista da faticidade. Ele acredita que essas resis-
tências são de dois tipos. De um lado, elas são chamadas internas quando
dizem respeito à faticidade de ações que teimam em não se adequar aos
mandamentos estabelecidos por procedimentos de produção normativa (cf.
2001b, pp. 97ss.). Ou seja, a um plano imanente em que as normas jurídi-
cas são confrontadas diretamente com o que, na teoria do direito tradicio-
nal, podemos chamar “mundo dos fatos”. E, de outro lado, essas resistências
podem ser ditas externas quando a idealidade de normas constituídas pelo
acordo racional de membros iguais e participantes de uma comunidade po-
lítico-jurídica tem de se haver com uma faticidade que transcende as possi-
bilidades de qualquer dominação normativa da realidade complexa por
uma coordenação consciente e racional dos atores sociais (cf. Habermas,
146 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 146 7/7/2009, 17:11
Pablo Holmes
2001b, pp. 105ss.; Neves, 2006, pp. 111ss.). Aqui, revelam-se os problemas
referentes àquelas esferas sistêmicas controladas de maneira neutra por có-
digos autorreferentes especializados que se tornam opacas ao acesso de uma
deliberação consciente, mediada linguisticamente, acerca das formas de re-
gulação das condutas (cf. Habermas, 2001a, pp. 253-261). Também desde
o ponto de vista externo, poderíamos nos referir às pressões éticas que per-
manecem em confronto com as formas de regulação imparcial de condutas.
O que acontece sobretudo em sociedades que apresentam um grau elevado
de particularismos culturais (cf. Neves, 2006, pp. 215-226).
Para Habermas, a tensão interna seria resolvida mediante duas caracte-
rísticas do direito. Primeiro, pela força motivacional representada pelas ra-
zões; a ação comunicativa, nesse sentido, teria o poder, por meio das preten-
sões de validade assentadas em atos de fala, de realizar uma transição entre a
esfera ideal de justificação e a esfera fática das motivações. Aqueles que to-
mam parte em uma comunidade jurídica deveriam poder pressupor a legiti-
midade das normas que regulam em conjunto suas interações, o que só po-
deria ser traduzido por aquilo que Habermas entende como a força
motivacional implícita nas boas razões (cf. 2001b, pp. 94ss.). Por outro
lado, a coação, que marca o sistema jurídico como sistema social, forçaria a
uma obediência obrigada àqueles que, colocando-se apenas na posição de
observadores estratégicos das relações sociais, resistissem faticamente à vali-
dade das normas mediante atos de desobediência. Ela teria o poder, portan-
to, de dobrar possíveis déficits motivacionais dos agentes (cf. Idem, p. 92;
Neves, 2006, pp. 111ss.). Já a tensão externa seria resolvida por via da capa-
cidade, própria de sociedades modernas que não mais se deixam regular em
conjunto por visões de mundo globais e unificantes de todas as esferas da
vida social, de fazer conectar o poder comunicativo, na forma de uma for-
mação democrática da vontade, com os sistemas sociais autônomos em que
impera a autorreflexividade de códigos de controle não linguísticos. Assim,
mediante a força do poder comunicativo presente em uma esfera pública
informal pluralista, o poder administrativo regulatório do Estado estaria
sempre, em casos limites, obrigado a dispor do apoio público consciente dos
implicados por intermédio das instituições procedimentais de formação da
vontade democrática (cf. Habermas, 2001b, pp. 432-439).
O nível da validade torna-se, portanto, central em sua formulação. De
um lado, é graças às pretensões de validade criticáveis e à lógica argumenta-
tiva livre de coações que se pode produzir poder comunicativo mediante a
possibilidade aberta pelo discurso prático de uma superação das particula-
junho 2009 147
Vol21n1-d.pmd 147 7/7/2009, 17:11
Briga de família ou ruptura metodológica na teoria crítica (Habermas X Honneth), pp. 133-155
ridades pela força de convencimento isenta de violência contida nas boas
razões (cf. Idem, pp. 71-78). De outro lado, é graças ao poder comunicati-
vamente gerado nos meios representados pela esfera pública informal e for-
mal que se pode garantir que as liberdades comunicativas não sejam
encapsuladas pelo poder regulatório de meios de controle deslinguisticiza-
dos como dinheiro e poder, responsáveis pela reprodução de subsistemas
sociais aparentemente não tocados pela força dos discursos práticos media-
dos por pretensões de validade criticáveis (cf. Idem, pp. 106-120, 421-438).
O nível da validade, porém, só pode cumprir essas tarefas se a sociedade
puder garantir a liberdade comunicativa por meio de um Sistema de Direi-
tos Fundamentais que faça de cada membro um sujeito de direitos ativo, ao
qual é deixado um espaço de liberdade para agir tanto na esfera pública, em
que é co-autor das leis e da formação democrática da vontade, como na
esfera privada, em que pode, dentro das regulações comuns, agir sem ter
que dar respostas a todo momento por suas ações (cf. Idem, pp. 150-169) e
onde forma a sua própria identidade ética (cf. Cohen, 1996, pp. 189ss.).
O reconhecimento além da tolerância: a relação entre
Eticidade Formal e Estado de Direito
Para Honneth, o direito, ao menos como este se apresenta na modernida-
de ocidental, é algo bem parecido ao que significa no interior da teoria do
discurso, algo que pode ser um elemento na interpretação que tente ver em
sua obra uma continuação da habermasiana. Com efeito, à medida que vão
sumindo, graças às pressões de indivíduos que questionam seus fundamen-
tos normativos, as estruturas tradicionais de reconhecimento, surge uma
forma igualitária de consideração recíproca (cf. Honneth, 2003b, pp.
139ss.). Essa nova forma de solidariedade funciona de modo reflexivo, regu-
lando tanto as condutas como a sua própria produção por meio do critério
de universalidade que torna todos comprometidos com as normas, simulta-
neamente como seus autores e destinatários; uma esfera que é aquela mesma
que Habermas descreve como própria de um “sistema de direitos funda-
mentais” construída mediante uma dialética entre a igualdade jurídica for-
mal e material (cf. Habermas, 2001b, pp. 483-502; Neves, 2006, p. 188).
Ou seja, que leva a uma evolução do Estado de Direito no sentido de uma
ampliação das capacidades participativas formais de interferir como autor
de normas e de uma ampliação, ao mesmo tempo, dos meios necessários ao
exercício efetivo daquelas capacidades (cf. Habermas, 2001b, pp. 498-502;
148 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 148 7/7/2009, 17:11
Pablo Holmes
Fraser, 2003, pp. 27-30). Na história das sociedades modernas, esse fenôme-
no ter-se-ia materializado numa ampliação do catálogo de direitos no senti-
do da criação de direitos sociais capazes de prover aos indivíduos um míni-
mo de bens que os fizessem aptos a participar do processo político, algo que
é acompanhado no rastro de Marshall (1967, pp. 57-114). Mas, se, para Ha-
bermas, esse processo é compreendido sempre a partir de uma prioridade da
moral sobre a eticidade, em Honneth é essa última que adquire prevalência,
ao menos metodológica.
Em certo sentido, os diagnósticos são bastante semelhantes, graças à
inclusão da moral universalista no diagnóstico do tempo moderno, ao me-
nos no que diz respeito ao direito. Mas há no seu desenvolvimento diferen-
ças que se devem exatamente àquela ruptura metodológica. Assim, ao con-
trário da compreensão habermasiana, que identificava a raiz normativa do
diagnóstico do tempo com as condições de integração comunicativa (cf.
Honneth, 2000c, pp. 101ss.), Honneth aponta que “aquilo que tem que
valer como perturbação (Störung) ou desenvolvimento problemático (Feh-
lenentwicklung) da vida social não pode mais atuar como condições racio-
nais de entendimento livre de coação, senão como pressupostos intersubje-
tivos do desenvolvimento da identidade humana” (Idem, p. 103). Nesse
sentido, no interior da modernidade, a mera consideração igual de suas
características de membro de uma comunidade política não seria capaz de
dar a cada indivíduo a satisfação de suas pretensões normativas de reconhe-
cimento, ou seja, não seria capaz de satisfazer um conceito crítico-teórico
de justiça social atento a uma concepção pós-metafísica de “vida boa” (cf.
Honneth, 2004b, pp. 386ss., 2000c, pp. 334-338).
Assim como toda a ação social regida por normas deve ser confirmada
pela existência de uma apreciação positiva de outros parceiros de interação,
aquelas opções tomadas no interior da esfera de liberdades oferecidas pelo
sistema de direitos, ou mesmo aquelas características particulares herdadas
pela origem cultural de certo indivíduo, como língua, costumes, religião,
autointerpretações, preferências éticas etc., precisam encontrar também
confirmação quanto a seu valor no seio da sociedade diante de confrontan-
tes sociais (cf. Honneth, 2003a, pp. 139-141). Para que o indivíduo possa se
relacionar consigo mesmo do modo mais intacto possível, ou seja, gozando
das condições formais de uma autorrelação prática saudável, ele precisa,
além de ser membro com iguais direitos de uma comunidade política, ter
institucionalizado, em linguagem jurídica ou nos padrões culturais que irão
importar para a aplicação das normas válidas, a proteção e a valorização das
junho 2009 149
Vol21n1-d.pmd 149 7/7/2009, 17:11
Briga de família ou ruptura metodológica na teoria crítica (Habermas X Honneth), pp. 133-155
partes de sua personalidade que são particulares e não podem ser considera-
das de modo universalista nos termos de um princípio jurídico da igualdade
(cf. Idem, p. 199). Uma teoria da sociedade moderna, pensa Honneth, não
pode encerrar sua tarefa na descrição de limites normativos mínimos para os
diálogos inter(sub)culturais e conflitos éticos. Um conceito liberal de asso-
ciação política é necessário, e garante a autonomia individual e o autorres-
peito. Apesar disso, um indivíduo que se veja livre para optar, nesse espaço
normativo vazio de conteúdos, não pode ser dito ainda realizado, ou seja,
dotado de uma subjetividade intacta ou, melhor ainda, gozando de uma
“vida boa” (cf. Honneth, 2004c, pp. 11-15).
Chama logo a atenção o fato de que, segundo essa concepção, o capitalis-
mo não é, de modo algum, como havia entendido Habermas, um projeto
livre de origens ideológicas e impermeável a valores e opções éticas. Se houve
uma desestruturação daqueles conteúdos da eticidade tradicional, que inte-
grava todas as esferas da vida sob algumas interpretações densamente difun-
didas, restaram, por outro lado, diferentes formas de avaliar as opções aber-
tas a cada indivíduo na esfera de liberdade privada (cf. Honneth, 2003b, pp.
154ss.). A complexificação social, o desacoplamento dos sistemas funcio-
nais do mundo da vida, como Habermas chama o surgimento das esferas da
economia e do Estado administrativo autônomos regulados por meios de
controle não linguísticos – dinheiro e poder –, pode ser, nesses termos, obje-
to de uma substancial reformulação teórica. Para Honneth, a burguesia, que
fora responsável pela promoção da forma de regulação jurídica pretensa-
mente imparcial, por meio da qual havia conquistado o status jurídico de
igualdade formal, haveria trazido, junto com esse novo nível normativo de
organização política, suas próprias formas de avaliação das formas de vida
particulares (cf. Idem, pp. 153-155). Os padrões culturais que valeriam para
o grupo social dominante estariam, assim, inextricavelmente imersos no
próprio mecanismo dos códigos de controle, nos seus critérios de avaliação
dos aportes individuais aos subsistemas econômico e burocrático e na avalia-
ção das finalidades a que servem esses subsistemas. O padrão de valores, que
Nancy Fraser chama de branco-europeu-macho-heterossexual (1987, pp.
48ss.), haver-se-ia tornado no rastro da modernização burguesa aquele ba-
seado no qual os diversos atores sociais seriam julgados quanto à medida de
estima social que poderiam merecer (cf. Honneth, 2003b, p. 154). Faria
parte, assim, das tarefas descritivas e normativas de uma teoria da sociedade
também este plano de lutas sociais por interpretações e os modos como ava-
liamos as contribuições individuais sempre tomadas desde o ponto de vista
150 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 150 7/7/2009, 17:11
Pablo Holmes
das finalidades que são compreendidas como prioritárias em uma comuni-
dade graças à predominância de certas visões de mundo.
As transformações sociais poderiam ser, assim, julgadas à luz da constru-
ção de um liberalismo político de origem comunitária que estivesse, desde o
início, focado na possibilidade de os indivíduos desenvolverem uma vida
intacta de sentimentos degradantes a partir de suas próprias escolhas do que
seja uma vida boa, sem que para isso fosse necessário abrir mão daquilo que,
para cada um, tem sentido ou oprimir outras opções alternativas de como
levar a própria vida.
Referências Bibliográficas
ADORNO, T. & HORKHEIMER, M. (1987), Dialética do esclarecimento: fragmentos filosó-
ficos. Rio de Janeiro, Zahar.
ARISTÓTELES. (1956), “Nichomachean Ethics”. In: The Works of Aristotle. The Great
Books of the Western World. Chicago/Londres, Encyclopedia Britannica, pp. 339-
444.
COHEN, Jean. (1996), “Democracy, Equality and the Right to Privacy”. In: BENHABIB,
Seyla (org.), Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Political.
Princeton, Princeton University, pp. 187-217.
DUBIEL, Helmut. (1992), “Domination or Emancipation? The Debate Over the He-
ritage of Critical Theory”. In: HONNETH, Axel et al. (orgs.), Cultural Political In-
terventions in the Unfinished Project of Enlightenment. Cambridge, MIT, pp. 3-16.
ERMAN , Eva. (2006), “Reconciling Communicative Action with Recognition:
Thickening the ‘inter’ of Intersubjectivity”. Philosophy & Social Criticism, 32 (3):
377-400. Londres/Nova Delhi/Thousand Oaks (CA), Sage.
FORST, Rainer. (2001), “Ethik und Moral”. In: GÜNTHER, Klaus & WINGERT, Lutz.
Die Öffentlichkeit der Vernunft und die Vernunft der Offentlichkeit. Frankfurt am
Main, Suhrkamp, pp. 344-371.
FRASER, Nancy. (1987), “O que é crítico na teoria crítica? O argumento de Habermas
e gênero”. In: BENHABIB, Seyla & CORNELL, Drucilla (orgs.), Feminismo como crí-
tica da modernidade. Rio de Janeiro, Rosa dos Ventos.
_____. (2003), “Social Justice in the Age of Identity Politics”. In: FRASER, Nancy &
HONNETH, Axel (orgs.), Redistribution or Recognition? A Political-philosophical
Exchange. Nova York, Verso, pp. 7-109.
GÜNTHER, Klaus. (2004), Teoria da argumentação no direito e na moral: justificação e
aplicação. São Paulo, Landy.
junho 2009 151
Vol21n1-d.pmd 151 7/7/2009, 17:11
Briga de família ou ruptura metodológica na teoria crítica (Habermas X Honneth), pp. 133-155
HABERMAS, Jürgen. (1983), Para a reconstrução do materialismo histórico. São Paulo,
Brasiliense.
_____. (1987), “A pretensão de universalidade da hermenêutica”. In: _____. Dialéti-
ca e hermenêutica: para a crítica da hermenêutica de Gadamer. Porto Alegre, L&PM,
pp. 26-72.
_____. (1997), “Trabalho e interação”. In: _____. Técnica e ciência como ideologia.
Lisboa, Edições 70, pp. 11-43.
_____. (1999a), “Lawrence Kohlberg e o neoaristotelismo”. In: _____. Comentários
à ética do discurso. Lisboa, Instituto Piaget, pp. 77-98.
_____. (1999b), “Comentários à ética do discurso”. In: _____. Comentários à ética
do discurso. Lisboa, Instituto Piaget, pp. 193-211.
_____. (2001a), Teoría de la acción comunicativa, II: Crítica de la razón funcionalista.
Madri, Taurus.
_____. (2001b), Facticidad y validez: sobre el derecho y el Estado democrático de derecho
en términos de teoría del discurso. Madri, Trotta.
_____. (2002), O discurso filosófico da modernidade: doze lições. São Paulo, Martins
Fontes.
_____. (2003a), Teoría de la acción comunicativa I: Racionalidad de la acción y
racionalización social. Madri, Taurus.
_____. (2003b), “Notas programáticas para a fundamentação da ética do discurso”.
In: _____. Consciência moral e agir comunicativo. Rio de Janeiro, Tempo Brasilei-
ro, pp. 61-141.
_____. (2003c), “Consciência moral e agir comunicativo”. In: _____. Consciência
moral e agir comunicativo. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, pp. 143-233.
_____. (2004), Verdade e justificação: ensaios filosóficos. São Paulo, Loyola.
HOLMES, Pablo. (2008), “A razão teórica triunfa sobre a razão prática? Habermas
contra a dialética do esclarecimento”. Ethic@, 7 (1): 23-49. Florianópolis, UFSC.
HONNETH, Axel. (1997), “Recognition and moral obligation”. Social Research, 64 (1):
16-25, primavera. Nova York, New School of Social Research.
_____. (2000a), “Demokratie als reflexive Kooperation: John Dewey und die De-
mokratietheorie der Gegenwart”. In: _____. Das Andere der Gerechtichkeit. Aufsätze
zur praktischen Philosophie. Frankfurt am Main, Suhrkamp, pp. 282-309.
_____. (2000b), “Patologhien des Sozialen: Tradition und Aktualität der
Sozialphilosophie”. In: _____. Das Andere der Gerechtichkeit. Aufsätze zur praktischen
Philosophie. Frankfurt am Main, Suhrkamp, pp. 11-69.
_____. (2000c), “Die soziale Dynamik von Miâachtung: Zur Ortsbestimmung einer
kritischen Gesellschaftstheorie”. In: _____. Das Andere der Gerechtichkeit. Aufsätze
zur praktischen Philosophie. Frankfurt am Main, Suhrkamp, pp. 88-109.
152 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 152 7/7/2009, 17:11
Pablo Holmes
_____. (2000d), “Posttraditionalle Gemeinschaft: eine Konzeptueller Vorschlag”. In:
_____. Das Andere der Gerechtichkeit. Aufsätze zur praktischen Philosophie. Frank-
furt am Main, Suhrkamp, pp. 328-338.
_____. (2002), “An Interview with Axel Honneth: The Role of Sociology in the
Theory of Recognition”. European Journal of Social Theory, 5 (2): 265-277, Lon-
dres/Nova Delhi/Thousand Oaks (CA), Sage.
_____. (2003a), Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. São
Paulo, Editora 34.
_____. (2003b), “Redistribution as Recognition: A Response to Nancy Fraser”. In:
FRASER, Nancy & HONNETH, Axel. Redistribution or Recognition? A Political-
philosophical Exchange. Nova York, Verso, pp. 110-189.
_____. (2003c), “The Point of Recognition: A Rejoinder to the Rejoinder”. In: FRASER,
Nancy & HONNETH, Axel. Redistribution or Recognition? A Political-philosophical
Exchange. Nova York, Verso, pp. 237-267.
_____. (2003d), “Honneth esquadrinha déficit sociológico. Entrevista a Marcos Nobre
e Luís Repa”. Folha de S. Paulo, Ilustrada, 11 out.
_____. (2004a), “Recognition and Justice: The Outline of a Pluralist Concept of Justice”.
Acta Sociologica, 47 (4): 358-363, dez., Londres/Nova Delhi/Thousand Oaks (CA),
Sage.
_____. (2004b), “From Struggles for Recognition to a Plural Concept of Justice, an
Interview with Axel Honneth”. Acta Sociologica, 47 (4): 383-391, dez., Londres/
Nova Delhi/Thousand Oaks (CA), Sage.
_____. (2004c), “Considerations on the Alessandro Ferrara’s Reflective Authenticity”.
Philosophy & Social Criticism, 30 (1): 11-15, Londres/Nova Delhi/Thousand Oaks
(CA), Sage.
HORKHEIMER, Max. (1969), Crítica de la razón instrumental. Buenos Aires, Sur.
KANT, Immanuel. (1951a), Crítica de la razón práctica. Buenos Aires, Ateneo (Colección
Clásicos Inolvidables).
_____. (1951b), Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Buenos Aires,
Ateneo (Colección Clásicos Inolvidables).
LEHMAN , Glen. (2006), “Perspectives on Charles Taylor’s Reconciled Society:
Community, Difference and Nature”. Philosophy & Social Criticism, 32 (3): 347-
376, Londres/Nova Delhi/Thousand Oaks (CA), Sage.
LONG, Christopher Philip. (2003), “Totalizing Identities: The Ambiguous Legacy of
Aristotle and Hegel after Auschwitz”. Philosophy & Social Criticism, 29 (2): 209-
240, Londres/Nova Delhi/Thousand Oaks (CA), Sage.
MARCUSE, Herbert. (1978), A ideologia da sociedade industrial: o homem unidimensional.
Rio de Janeiro, Zahar.
junho 2009 153
Vol21n1-d.pmd 153 7/7/2009, 17:11
Briga de família ou ruptura metodológica na teoria crítica (Habermas X Honneth), pp. 133-155
MARSHALL, T. H. (1967), “Cidadania e classe social”. In: ________. Cidadania, classe
social e status. Rio de Janeiro, Zahar, pp. 57-114.
MELO, Marcos André. (2002), “Republicanismo, liberalismo e racionalidade”. Lua
Nova, 55-56: 57-84.
NEVES, Marcelo. (2006), Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. O Estado Democrá-
tico de Direito a partir e além de Luhmann e Habermas. São Paulo, Martins Fontes.
NICHOLSON, Linda. (1996), “To Be or Not to Be: Charles Taylor and the Politics of
Recognition”. Constellations, 3 (1): 1-16, Oxford-Malden, Blackwell.
NOBRE, Marcos. (2003), “Luta por reconhecimento: Axel Honneth e a teoria crítica”.
Prefácio à edição brasileira. In: HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramá-
tica moral dos conflitos sociais. São Paulo, Editora 34, pp. 7-19.
SCHNÄDELBACH, Herbert. (1986), “Was ist Neoaristotelismus?”. In: KUHLMANN,
Wolfgang. Moralität und Sittlichkeit: Das Problem Hegels und die Diskursethik.
Frankfurt am Main, Suhrkamp, pp. 38-63.
TAYLOR, Charles. (1993), “La política del reconocimiento”. In: _____. Multicultura-
lismo y “la política del reconocimiento”. México, Fondo de Cultura Económica, pp.
43-107.
_____. (1994), La ética de la autenticidad. Barcelona, Paidós.
_____. (2002), “Sprache und Gesellschaft”. In: HONNETH, Axel & JOAS, Hans (orgs.),
Kommunikatives Handeln: Beiträge zu Jürgen Habermas’ “Theorie der Kommunikatives
Handeln”. Frankfurt am Main, Suhrkamp, pp. 35-52.
WELLMER, Albrecht. (1987), Ética y diálogo: elementos del juicio moral en Kant y en la
ética del discurso. Barcelona, Antropos.
WIGGERHAUS, Rolf. (2000), A Escola de Frankfurt: história, desenvolvimento teórico e
significação política. São Paulo, Difel.
WOLF, Ursula. (2001), “Worin sich die Platonische und die Aristotelische Ethik un-
terscheiden”. In: GÜNTHER, Klaus & WINGERT, Lutz. Die Öffentlichkeit der Vernunft
und die Vernunft der Offentlichkeit. Frankfurt am Main, Suhrkamp, pp. 271-279.
ZURN, Christopher. (2000), “Anthropology and Normativity: A Critique of Axel
Honneth’s ‘Formal Conception of Ethical Life’”. Philosophy & Social Criticism, 26
(1): 115-124, Londres/Nova Delhi/Thousand Oaks (CA), Sage.
154 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 154 7/7/2009, 17:11
Pablo Holmes
Resumo
Briga de família ou ruptura metodológica na teoria crítica (Habermas x Honneth)
Este artigo tenta lançar luz sobre as possíveis convergências e divergências entre os
pontos de vista teóricos de Axel Honneth e Jürgen Habermas, dois dos mais importan-
tes filósofos sociais das últimas décadas. Primeiramente, tenta-se, a partir de seus pres-
supostos metodológicos, posicioná-los ante o debate contemporâneo entre éticas do
“bem” e do “justo”. Depois, é incluída a intuição de que as lutas sociais por reconheci-
mento podem se tornar um medium relativamente frutífero para compreender a linha
evolutiva que levou às instituições políticas da modernidade ocidental. Examinando-
se, por fim, o papel do direito em sociedades modernas, tenta-se observar até onde
pode chegar a teoria do discurso habermasiana e em que ela pode ser complementada
pela teoria do reconhecimento social.
Palavras-chave: Direito moderno; Teoria do discurso; Teoria social do reconhecimento.
Abstract
A family quarrel: methodological rupture in critical theory (Habermas v. Honneth)
This paper attempts to analyze the convergences and divergences between the theo-
retical viewpoints of Habermas and Honneth, two of the most important social phi-
losophers of the last few decades. Firstly, it compares their distinct methodological
suppositions, relating them to the current debate over the contradiction between ‘moral’
and ‘ethical’ viewpoints. Next, it explores the idea that social struggles for recognition
can form a theoretically productive medium for understanding the evolution of politi-
cal institutions in the modern western world. Finally it examines the role played by the
rule of law in modern societies, looking to determine to what point we can adhere to
the Habermasian theory of discourse and where this can be usefully complemented by
a theory of social recognition.
Keywords: Modern law; Social theory of recognition; Theory of discourse.
Texto recebido em 5/
11/2007 e aprovado
em 25/8/2008.
Pablo Holmes é mes-
tre em Filosofia e Teo-
ria do Direito pela
Universidade Federal
de Pernambuco e dou-
torando em Sociologia
na Universität Flens-
burg, Alemanha. E-
mail: pabloholmes@u
ol.com.br.
junho 2009 155
Vol21n1-d.pmd 155 7/7/2009, 17:11
Biografias e movimentos de luta por terra em
Pernambuco*
Marcelo C. Rosa
*
O crescimento das organizações e dos movimentos sociais em torno de de- Agradeço aos comen-
mandas por terra e reforma agrária no Brasil na última década é um fenô- tários dos pareceristas
anônimos que contri-
meno relevante no campo das ciências sociais. Levantamentos da Comis-
buíram para o refina-
são Pastoral da Terra apontam que há mais de cinquenta movimentos mento de diversas
diferentes em todo o país1. Trata-se de ações coletivas que trazem para o questões discutidas ao
centro das disputas políticas a transformação do espaço e das relações so- longo deste texto.
ciais em regiões que a própria sociologia brasileira tratou de caracterizar 1. Ver o relatório “Con-
como o locus dos modos de dominação tradicionais2. Uma breve passada de flitos no campo” em suas
olhos nos locais em que se concentram esses grupos, que na sua maioria se edições de 1995 a 2007.
identificam como movimentos, direciona nossa atenção para as pequenas 2. Trabalhos exemplares
cidades situadas em regiões que tiveram na grande lavoura o sentido de sua desse tipo de caracteri-
formação. É nesses locais que se encontram os acampamentos, as sedes dos zação são Homens livres
na ordem escravocrata de
movimentos e as casas e famílias de seus líderes e militantes3.
Maria Sylvia de Carva-
Alguns trabalhos já se dedicaram ao estudo do processo de espacialização lho Franco (3 ed., São
e territorialização dos assentamentos e acampamentos no Brasil (cf. Fer- Paulo, Kairós, 1983) e
nandes, 1999, 2000) e a seus efeitos sociais (cf. Palmeira et al., 2004) em Coronelismo, enxada e
regiões específicas. Nenhum deles, no entanto, teve por foco compreender voto de Vitor Nunes
Leal (Rio de Janeiro,
qual o lugar desses movimentos na sociabilidade dessas cidades. Para além
Nova Fronteira, 1997).
do acampamento ou do assentamento, que em geral ficam nas zonas rurais,
3.Análises como as de
muitas dessas organizações possuem escritórios ou pequenos espaços para
Palmeira et al. (2004)
encontros nos centros urbanos desses municípios.
Vol21n1-d.pmd 157 7/7/2009, 17:11
Biografias e movimentos de luta por terra em Pernambuco, pp. 157-180
procuraram dar conta Essas questões e constatações vieram à tona em uma pesquisa realizada na
desse tipo de impacto. região canavieira do estado de Pernambuco entre 2001 e 2004. Naquele lo-
4. A pesquisa, entre ou- cal concentra-se, desde meados dos anos de 1990, o maior número de ocu-
tras fontes e formas de pações de terra e também de movimentos sociais voltados para essas práticas
obtenção informações,
de reivindicação. Quando o trabalho de pesquisa foi iniciado, por meio de
foi feita por meio de
entrevistas com todos visitas às sedes dos movimentos, encontrei locais equipados com dormitóri-
os principais militantes os, computadores e outras facilidades – como nos casos da Fetape e da sede
de movimentos que estadual do MST – e outros que funcionavam nas próprias casas dos mili-
atuavam na Zona da tantes, como nos casos do MTRUB, do MTBST e de sedes locais e regionais
Mata de Pernambuco. do próprio MST. Esses últimos casos chamaram a atenção para a importân-
Para o caso do MST, fo-
cia do empenho individual de certos sujeitos na construção do que conhece-
ram entrevistados os
líderes de microrregio- mos como luta por terra no Brasil. Como todos eles vivem em cidades do
nais que representam interior, foi possível perceber as múltiplas faces desses investimentos na vida
um conjunto de cida- em movimento, com o empenho de suas reputações e recursos materiais em
des nas quais há acam- uma tarefa vista por alguns como luta social e por outros como atividade
pamentos e assenta-
ilegal4, características que, ao longo dos processos de reivindicação, associam
mentos do movimen-
to. Para o caso dos as organizações aos próprios indivíduos que as representam.
movimentos locais fo- Ao longo deste artigo trabalharemos com casos exemplares de militan-
ram entrevistadas suas tes e lideranças5, por meio dos quais bucaremos reconstituir alguns dos
lideranças oficiais. Os sentidos que o pertencimento a um movimento de sem-terra adquire numa
casos aqui trabalhados
região marcada pela sociabilidade agrária. Tomando os depoimentos for-
são uma seleção que
leva em conta a quali-
mais e informais desses sujeitos, procuraremos destacar as formas pelas quais
dade e a profundidade a adesão, o empenho e a dedicação ao movimento são justificadas pelos
das entrevistas, bem próprios militantes. A partir dos casos estudados, procuraremos apresentar
como questões de fai- a hipótese de que os movimentos se configuram em uma alternativa de
xa etária e gênero. significação social (cf. Elias, 1997) no mundo da cana-de-açúcar, transfor-
5. Nem todos os líde- mando, em certos casos, o pertencimento ao movimento em algo tão ou
res participantes de mo- mais importante que a aquisição da própria terra.
vimentos se identificam
como militantes. Essa
expressão é usada prin- Militantes e lideranças em movimento6
cipalmente por sujeitos
ligados ao MST. Para os Tendo em vista que a forma e o conteúdo das ações coletivas estavam se
demais casos, a expres- alterando na Zona da Mata e que a inflexão havia se dado justamente após a
são mais corrente é “li-
chegada do MST à região no início dos anos de 1990, iniciei o trabalho tra-
derança”.
vando contato com os militantes que construíram a organização nessa re-
6. Toda vez que a pala- gião. Essa opção metodológica era relevante justamente porque a chave para
vra movimento aparecer
a compreensão desse processo não poderia estar no MST de forma geral, mas
em itálico, ela se refere
justamente nos impactos e nas particularidades de sua chegada àquele local.
158 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 158 7/7/2009, 17:11
Marcelo C. Rosa
Os militantes e as lideranças tornaram-se peças-chave justamente por- ao que chamo em Rosa
que já estavam na região antes de os movimentos e acampamentos se proli- (2004a) de forma movi-
mento: o conjunto de
ferarem. Eram eles, portanto, os únicos elementos que poderiam ser acom-
ações e procedimentos
panhados sistematicamente no tempo e no espaço em que tais mudanças se obrigatórios que, a par-
deram. As transformações de suas vidas, como veremos, são indicadores tir do modelo consagra-
confiáveis dos significados assumidos pelos atos de ocupar terras e montar do pelo MST, rege a
acampamentos. Partiremos, assim, do modo como cada um dos sujeitos atuação de militantes e
dirigentes e os qualifica
entrevistados tratou em nossa pesquisa de inserir o movimento em sua pró-
diante dos órgãos do Es-
pria história. Como veremos a seguir, esse roteiro epistemológico (cf. Sayad, tado como representan-
1998) não poderia deixar de se iniciar, portanto, por aquele militante que tes legítimos de certas
se envolveu com o movimento desde seu período fundacional7. De caso em parcelas da sociedade.
caso, de situação em situação, construiremos o contexto e as formas pelas O uso dessa expressão
quais os movimentos dos sem-terra contribuíram para alterar as formas decorre da necessidade
de não confundi-la com
possíveis de construção da sociabilidade na região.
“movimento social”, ex-
pressão que, por ser lar-
Miguel 8 gamente utilizada em
inúmeras disciplinas,
Dos militantes que entrevistei, Miguel era o que estava no MST há mais abarca fenômenos cole-
tivos de diversos tipos,
tempo. Ele havia tomado contato com o movimento no ano de 1992, du-
carecendo de definições
rante a preparação da ocupação do Engenho Camaçari, em Rio Formoso. precisas.
Na época, ele tinha 21 anos e era o filho homem vivo mais velho de uma
7. Apesar de a primei-
família de dezenove irmãos. Filho e neto de trabalhadores rurais, Miguel ra ocupação realizada
foi, desde pequeno, socializado no modo de vida dos trabalhadores da cana, pelo MST na Zona da
vivendo em um engenho9. Mata datar de 1989, foi
Aos 15 anos deixou a casa dos pais e foi morar com o avô em outro somente em 1992 (na
engenho. O avô havia sido delegado sindical e costumava levá-lo ao sindi- segunda ocupação) que
se constituíram condi-
cato, porém quando adulto não chegou a frequentar o STR. Aos 16 anos
ções para sua perma-
arranjou emprego como cortador de cana em uma usina na periferia de nência na região. Para
Recife. Lá permaneceu durante uma safra e retornou à sua cidade de ori- mais dados, ver Sigaud
gem para trabalhar em outro engenho. Nesse tempo, foi também convida- (2000).
do pelos parentes a migrar para São Paulo, mas como não tinha estudo – 8. Para proteger os en-
concluiu apenas a primeira série – decidiu ficar na região. trevistados de cons-
Aos 18 anos tirou seus documentos – CPF, carteira de identidade e do tra- trangimentos causados
pelas interpretações do
balho, e certificado de reservista – e foi, pela primeira vez, a Recife. Lá conse-
autor, todos os nomes
guiu um emprego na construção civil, mas, como não tinha dinheiro para utilizados no texto são
pagar o adiantamento do aluguel, teve que voltar para Rio Formoso. Conti- fictícios. A única exce-
nuou a vida cortando cana, trabalhando das três da manhã às quatro da tar- ção é Fernando Amaro
de. Cortando, segundo ele, em média, 25 toneladas por dia. Depois, conse- da Silva, para lhe render
junho 2009 159
Vol21n1-d.pmd 159 7/7/2009, 17:11
Biografias e movimentos de luta por terra em Pernambuco, pp. 157-180
homenagem após seu guiu um emprego para carregar manualmente os caminhões de uma usina
assassinato. com sacos de açúcar. Em 1991 foi demitido e, a convite de um amigo, foi a
9.Engenho é a deno- uma reunião promovida por militantes do MST que vinham de outros esta-
minação local para as dos. Logo em seguida, participou da ocupação de uma propriedade na sua
propriedades que cul-
própria cidade e foi convidado a fazer um curso de formação de militantes:
tivam cana-de-açúcar.
A gente já era militante, mas não tinha participado de nenhum curso. [O primeiro
curso] foi um curso muito bom onde eu comecei a ver um pouco da realidade, a viver
um pouco da história, ter mais conhecimento político [...]. Apesar da dificuldade de
ler, de escrever, essa coisa toda, mas tinha uma boa memória para já começar a
pensar toda a situação que o país vivia. Aí a gente retorna para as bases, retorna
para casa [...] Já para o final de 1993 veio outro curso em Santa Catarina, em
Caçador. Então eu fui com os outros companheiros para lá participar do estudo
[...]. Na minha saída fizeram uma festa. E na minha chegada fizeram outra festa, os
companheiros do acampamento e os companheiros do sindicato. Era uma festa, para
eles era um grande motivo, porque era uma pessoa daqui que estava se engajando no
movimento. Que tinha tendência de junto com eles crescer politicamente, crescer junto
10.A entrevista com com eles aqui nos acampamentos (grifos meus)10.
Miguel foi realizada por
Lygia Sigaud e por Sér-
A entrevista e as conversas que mantive com Miguel durante o meu
gio Chamorro Smircic
em 9/9/1999. Agrade-
trabalho de campo apontam para a importância social que pertencer aos
ço a sua gentileza em quadros do MST foi ganhando naquela região. Para um homem que havia
me ceder o material. Os cursado apenas a primeira série, o engajamento no movimento represen-
cortes realizados na en- tou, como ele mesmo fez questão de assinalar, uma nova possibilidade de
trevista são de minha inserção social.
inteira responsabilida-
No curto período de tempo entre ser um trabalhador rural como qual-
de e visam a tornar o
texto mais conciso. quer outro e aquele no qual foi recebido com festa por companheiros e ami-
gos da cidade, sua vida mudou completamente. Os cursos de militante ini-
ciados na região o levaram a visitar Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio
de Janeiro, entre outros estados. Para alguém que conheceu o Recife, distan-
te menos de cem quilômetros de sua cidade natal, apenas aos 18 anos, ter
visitado algumas das principais cidades do país representa muito. Miguel
conhece todas as autoridades locais e também é reconhecido por elas quan-
do passa pelas ruas da cidade. Atualmente morando na cidade vizinha de
Tamandaré, sempre que o procurei nas feiras e nas praças da cidade todos
sabiam quem era o “Miguel do MST” e onde ele poderia ser encontrado.
Na última vez que o encontrei, Miguel havia se afastado da militância.
Sem receber por muitos meses a pequena ajuda de custo que utilizava para
160 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 160 7/7/2009, 17:11
Marcelo C. Rosa
sustentar sua família, ele arranjou um emprego na prefeitura municipal
para cuidar da jardinagem de uma praça pública. Mesmo afastado da mili-
tância, ele continua a ser conhecido na cidade como o “menino do MST”,
pois foi ali que, segundo os moradores, aprendeu tudo o que sabe na vida.
Para além de uma nova função, que por si já se configura como algo impor-
tante para quem estava desempregado, Miguel encontrou no movimento
uma possibilidade de inserção social muito distinta daquelas que figuravam
anteriormente à chegada do MST. O líder de uma microrregional, como
ele foi, é responsável por centenas de famílias que tomam parte nos acam-
pamentos e também pelas negociações com autoridades locais sobre o des-
tino e a manutenção dos acampamentos. De suas habilidades em lidar com
o próprio movimento, com os representantes do Estado e fazendeiros pas-
sam a depender todas as famílias que vivem sob as lonas pretas.
César
César conheceu o MST, por meio de Miguel, aos 19 anos:
MARCELO: Como é que você ficou sabendo?
CÉSAR: Eu estava fazendo um trabalho no colégio estadual. E eu tinha que fazer um
trabalho da reforma agrária em termos de Rio Formoso. Então fui obrigado a
estudar o método de organização do MST e a cultura do movimento sem-terra.
Marcelo: A professora da escola pediu para você fazer?
CÉSAR: Fazer um trabalho agrário.
MARCELO: Você estava no segundo grau?
CÉSAR: É do primeiro grau. Então fui obrigado a escolher um tema. Fui obrigado
a conversar com Miguel. Vou precisar de bandeira, vou precisar de CD, vou preci-
sar de material didático do movimento, e eu fiz um trabalho. Um dos melhores
trabalhos e nisso o espírito social entrou e mudou o quadro. E eu disse assim: a
partir de hoje eu quero ser sem-terra. E até o companheiro Miguel aí me levou para
o encontro e eu fui obrigado a comprar uma camisa, uma farda do exército sem-
terra. Então fui obrigado a deixar um pouco a escola e pegar na organização.
MARCELO: Você já conhecia o Miguel?
CÉSAR: Já. A gente morava no mesmo bairro. Então a gente já conhecia o Miguel, o
negão sem terra. [...] Hoje ele é um exemplo para a juventude. Eu fui falar com ele para
ele me levar para um curso. Porque eu queria conhecer o movimento mais de perto.
MARCELO: Depois desse curso você voltou para Rio Formoso?
CÉSAR: É, depois eu voltei pra Rio Formoso. E eu não via que Rio Formoso era
junho 2009 161
Vol21n1-d.pmd 161 7/7/2009, 17:11
Biografias e movimentos de luta por terra em Pernambuco, pp. 157-180
uma prisão. Então, com quarenta dias eu peguei o hábito do povo sem-terra. En-
tão eu tinha uma decisão: ficar com a minha família ou ir para os sem-terra.
César é filho de um funcionário da prefeitura de Rio Formoso. Antes
de ir para o curso do MST, trabalhava como atendente em uma padaria
que funcionava somente durante a safra da cana (setembro a março). De-
pois de conversar com Miguel, fez o curso para militantes em Olinda e
outros mais longos em Caruaru. Participou, ainda, de cursos em Sergipe,
na Universidade do estado do Rio de Janeiro – UERJ, e do Fórum Social
Mundial, em 2001. Quando o encontrei, em 2002, ele havia sido desta-
cado pela direção estadual para coordenar a microrregional de Barreiros e
11. No estado de Per- São José da Coroa Grande11.
nambuco a hierarquia Desde que deixou a escola, passou os dias envolvido com as tarefas
das decisões do MST
que o movimento lhe delegou. Além de coordenar os acampamentos, ele
era, simplificadamente,
organizada em coorde-
tinha a missão de atrair cerca de duzentos jovens da região para os cursos
nações microrregionais, do movimento. Assim como para Miguel, participar do movimento con-
regionais e estadual. feriu qualidades ambíguas, neste caso para um jovem:
CÉSAR: quando eu disse que era sem-terra eu deixei de ter amigos e a minha família
ficou me olhando. Eu tive que tomar uma decisão: ou eu fico com a família ou
com o movimento sem-terra. E aí hoje eu sou um dos maiores exemplos lá da juven-
tude de Rio Formoso, eu coloco até de Pernambuco. Hoje eu sou bem-vindo em Rio
Formoso. Eu faço debate em colégio municipal, estadual [...]. Então hoje é todo
mundo lá dizendo assim: olha, eu quero ir é contigo onde está os sem-terra.
O depoimento de César, ao ressaltar o rompimento de suas relações
sociais como um imperativo para a adesão ao movimento, ajuda a com-
preender como o MST passou a ser visto nessas pequenas cidades. O movi-
mento era um corpo estranho que não se combinava com as estruturas até
então conhecidas. Entrar para a organização era assumir uma posição liminar
cujos resultados eram imprevistos.
Ao voltar tempos depois à escola em que estudou, não mais como alu-
no, mas como palestrante, ele se investe de autoridade e se diferencia da
massa dos outros meninos, que ele espera conquistar. Paradoxalmente, esse
sentimento de orgulho individual somente existe porque ele continua a
compartilhar a vida coletiva dos sem-terra e, ao mesmo tempo, retorna
sempre à sua cidade (quando vê confirmada sua escolha). Ou seja, o movi-
mento não tem para ele um fim em si mesmo. A admiração e seu orgulho
162 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 162 7/7/2009, 17:11
Marcelo C. Rosa
pessoal denotam que sua aventura agora já poderia ser reconhecida, não
apenas porque muitas famílias tiveram acesso à terra, mas porque ele tem
novas histórias para contar, de suas viagens e das conquistas do movimento.
Um movimento que por meio de figuras como ele ganha espaço nas narra-
tivas pessoais e familiares da Zona da Mata.
Para manter sua posição na cidade e no movimento, e mesmo para gal-
gar posições ainda mais prestigiosas, ele precisa passar dias e noites agitan-
do uma ocupação ou lendo os livros de Marx e Che Guevara que carrega
em sua pastinha, com a qual desfila orgulhoso pela cidade. Esse trabalho
constante lhe credencia junto à direção do MST e também junto aos habi-
tantes de sua cidade natal.
As lutas dos outsiders 12 12.O termo outsider
tem inspiração na obra
Os casos de Miguel e César seriam típicos para uma análise sociológica de Elias (2000), na qual
a expressão é utilizada
que ficasse restrita a jovens militantes. Eles ajudam a compreender a impor-
para qualificar os sujei-
tância do MST na criação de oportunidades para uma socialização política tos que, apesar de toma-
primária entre os moradores da Zona da Mata, que não teriam possibilida- rem parte nos processos
des de ingressar em outras organizações. Seus casos, apesar de reveladores produtivos e na vida co-
dessa situação específica, não foram os únicos “modelos” de engajamento tidiana da cidade, não
são reconhecidos como
que encontramos. Há na zona canavieira de Pernambuco um conjunto de
membros da “boa socie-
lideranças que já participara em outras instâncias e organizações e que, em dade”, ou seja, como re-
determinado momento, também tomou parte nesse movimento. Esses su- presentantes do grupo
jeitos permitiram-nos conhecer um outro sentido do estabelecimento dos (minoritário) que dita os
movimentos em Pernambuco. padrões de estilo de vida
e conduta ideais para a
comunidade toda.
Márcia
Márcia era coordenadora da regional Mata Norte. Quando a entrevis-
tei, em maio de 2002, ela tinha 40 anos, ou seja, era mais velha do que os
militantes analisados antes. Ela é natural da Paraíba, mas viveu desde os 3
anos de idade na cidade de Condado, também na M ata Norte. Filha de
um pequeno arrendatário de terras, casou-se aos 13 anos, teve quatro fi-
lhos e completou o curso de magistério em uma escola na cidade de
Goiana.
Em 1986, foi eleita para a tesouraria do sindicato de Condado, posição
que ocupou por oito anos. Saiu, tempos depois, por divergências com o
então presidente. Ao mesmo tempo, exerceu a profissão de professora por
junho 2009 163
Vol21n1-d.pmd 163 7/7/2009, 17:11
Biografias e movimentos de luta por terra em Pernambuco, pp. 157-180
doze anos naquela cidade. Lá também organizava associações de ajuda nos
bairros e na escola:
MÁRCIA: Eu era professora, mas eu formava a associação com pessoas que eram
deficientes, pessoas que passavam necessidade. A gente sempre tinha aquele traba-
lho de procurar as pessoas e tentar ajudar. Procurar os políticos para fazer doação
de colchão, de cadeiras de rodas e de alimentação. Pelo menos uma vez por dia a
gente preparava uma sopa lá na associação e nós doávamos para esse pessoal. Eu
tinha um conhecimento muito grande na cidade e o pessoal me procurava muito.
Depois a gente via que tinha pessoas que não tinham casa [...] não podiam pagar
aluguel de casa, e os prefeitos não doavam terreno para eles construírem a casa, e aí
a gente começou fazendo a ocupação de sem-teto.
MARCELO: Como é que começou essa coisa de ocupar os terrenos da cidade?
MÁRCIA: Eu era professora, mas tinha procuração de todo mundo da cidade. Tanto
do pessoal pobre quanto do pessoal que trabalhava na Prefeitura e que não apoiava
o prefeito. Eles passavam a informação pra mim. Aquele terreno ali foi uma briga
política e o prefeito está aguardando para quando chegar a política e ele fazer a
política dele em cima daquele terreno. Eu ia lá e ocupava com os trabalhadores.
Acabou que eu fui presa em 1997.
MARCELO: Em 1997?
MÁRCIA: A minha prisão lá na cidade. E passei mais de 24 horas presa. Depois me
tiraram da cadeia, quando eu cheguei em casa o meu pai não entendeu. Ele não
entendia minha luta. Quando eu cheguei em casa ele não me aceitava dentro de
casa. Eu já era separada do marido.
MARCELO: Já tinha separado?
MÁRCIA: Já tinha três filhos. Não baixei a cabeça não. Ele não me queria dentro de
casa e eu fui pra rua, fui para o mundo mesmo. Foi nesse ano que eu encontrei o
movimento sem-terra lá na cidade.
MARCELO: A senhora não conhecia nada do movimento?
MÁRCIA: Não. Eu tinha conhecimento era do sindicato rural, que é diferente do
MST. Um companheiro fez um convite para eu fazer um trabalho de base com
ele e eu fui.
Descrevendo seus vínculos sociais, Márcia mostra que a vida nessas cida-
des do interior não era simples e que havia uma gama de possibilidades de
envolvimento com a política. Tomando os rumos que nos são ofertados pela
vida dessa militante, vemos que o MST não chega àquele local em uma
espécie de vácuo político ou ideológico.
164 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 164 7/7/2009, 17:11
Marcelo C. Rosa
Suas apreciações acerca de sua vida na militância permitem uma melhor
compreensão desse processo: “Para mim, minha felicidade está dentro do
MST. Na organização a gente se revela outra pessoa. Entrando no movimen-
to sem-terra , com um ano, dois anos a gente se vê que é uma outra pessoa”.
Para uma mulher que afirma que desde jovem se envolveu em grupos
para ajudar os outros, fosse no sindicato ou nos grupos de bairro, o encon-
tro com o MST representou a possibilidade de prosseguir suas atividades.
Engajar-se nesse movimento é mais uma possibilidade que se abriu ao longo
da vida. Não por acaso, ela se mantém organizando acampamentos e ocu-
pações na mesma área em que viveu toda a sua vida.
Depois de um ano apenas na militância, ela foi destacada para coordenar
a regional, em 1998. Daquela época em diante ela comandou algumas das
maiores ocupações da região e voltou a ser perseguida pela polícia e pelos
políticos locais. Agora, como ela mesma afirmou, tem a liberdade de dirigir-
se a qualquer um dos prefeitos da região e exigir uma determinada ajuda
como coordenadora do movimento, e não mais como uma pessoa comum.
Fora do sindicato e malvista pela família e pela comunidade da cidade,
ela encontrou no MST o amparo coletivo para a sua vida e uma justificação
para sua conduta incomum. Sua vida de outsider, repudiada pelos mais pró-
ximos, foi justamente o que chamou a atenção dos militantes da região.
Seus conflitos com os políticos locais, com os sindicalistas e com a polícia
aproximaram-na, mesmo que não intencionalmente, do MST, que se tor-
nou, como ela diz, sua própria família.
Além de concorrer para uma pequena mudança na estrutura fundiária
local, o MST parece também contribuir para uma redefinição das estruturas
tradicionais de hierarquia e estratificação social nesses municípios a partir
do momento em que se legitima como uma nova instituição da vida local.
Como Márcia afirma, depois da chegada no MST ela já não é mais a mes-
ma pessoa, e isso mostra que as estruturas de significação e interdependên-
cias nas quais ela vive (e que lhe atribuem sentido social) também mudaram.
Se mudaram as estruturas, os símbolos de significação também foram altera-
dos e a família do MST, que já não é a mesma família na qual ela foi criada.
Turbina
A atratividade de histórias políticas anteriores à militância do MST não
fica restrita somente ao caso de Márcia. Turbina recebeu esse apelido por
trabalhar dezenove anos como operador de gerador em uma usina de açúcar
junho 2009 165
Vol21n1-d.pmd 165 7/7/2009, 17:11
Biografias e movimentos de luta por terra em Pernambuco, pp. 157-180
de sua cidade. Aos 9 anos já acompanhava o pai, que trabalhava na lavoura de
cana. Começou semeando adubo e depois foi cambitar o gado que arava as
terras. Antes de virar operador do gerador, foi zelador de um dos engenhos
da usina. Quando nos encontramos pela primeira vez, em maio de 2002, ele
tinha 38 anos.
MARCELO: Como é que você ficou sabendo do movimento e começou a participar?
TURBINA: Eu saí da usina em 20 de junho de 1997. Eu passava na beira da pista e
via as bandeiras. Para ser franco, eu tinha medo. Fui atrás de emprego na Usina
Trapiche e não consegui. E aí, através de um amigo da cidade, ele me chamou para
uma ocupação, e eu entrei na luta e estou até hoje.
MARCELO: Por que você decidiu acampar e não fazer outra coisa?
TURBINA: Como eu falei anteriormente, eu não consegui emprego, aí vi que o
movimento tava oferecendo uma terra. Aí disse: eu já tenho minha casa e com terra
vou conseguir um trabalho. Aí fui para o acampamento. Na primeira semana me
colocaram para ser coordenador de alimentação. Aí vim na Prefeitura conversar
com o prefeito sobre a questão da alimentação, e daí por diante eu consegui me adaptar
ao movimento.
Turbina engajou-se no movimento com 34 anos. Ele foi demitido da
usina no ano em que foi lançado candidato à presidência do sindicato dos
trabalhadores nas usinas de açúcar e álcool de Escada, em uma chapa de
oposição.
Assim como Márcia, Turbina foi preso, em 1999, durante um saque
promovido pelo MST na rodovia BR-101 em Escada. Ficou detido por três
meses e meio no presídio daquela cidade. Ao sair da prisão, foi laureado
com a coordenação da microrregional de Escada e logo a seguir foi destaca-
do para coordenar a regional metropolitana.
No seu caso, também a prisão e sua condição de outsider, que faziam de
trabalhadores comuns depositários de estigmas, passam a ser vistas como
atributos de qualificação. Seu período no cárcere e sua resistência para se
manter no movimento foram símbolos vistos como prova de suas qualida-
des individuais.
O desprestígio causado na cidade pela prisão era equilibrado pela sua
condição de coordenador regional do MST:
TURBINA: Fui preso e já estava com mandado. Me levaram para o presídio de Vitó-
ria [de Santo Antão], passei lá uma semana e daí eu vim aqui para Escada. Quando
166 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 166 7/7/2009, 17:11
Marcelo C. Rosa
eu saí, saí um pouco revoltado com a burguesia. Hoje toda a burguesia da cidade me
respeita, até a polícia. É Turbina pra cá, Turbina pra lá.
Em nossa conversa ele fez questão de apontar a mudança ocorrida em
sua vida depois de ter passado a usar o boné do MST. Se antes era um traba-
lhador rural como qualquer outro, depois de se engajar no MST e passar por
essa série de dificuldades, tornou-se conhecido e respeitado por toda a cida-
de. Mesmo que ele desconfie que o respeito vem do medo que os sem-terra
despertam nas autoridades locais, sente que somente assim pôde ocupar
uma posição social diferenciada. Como aponta Elias (1997), assumir essa
condição de fora-da-lei é também uma forma de ascensão social, na medida
em que essas posições de representação passam a ser tão reconhecidas quan-
to as formas institucionais.
Turbina sente-se como um indivíduo diferente – respeitado – porque,
assim como para Márcia, o MST lhe dá a condição de ajudar outras pessoas
da própria cidade onde nasceu e, ao mesmo tempo, ter sua conduta legiti-
mada pelas autoridades locais. Ele agora é aceito como membro de uma
instituição que, mesmo diante de toda a ambiguidade acima descrita, pode
ser considerada legítima.
Judith
O desejo de ajudar outras pessoas mais necessitadas teria contribuído
para Judith, 42 anos, engajar-se no MST. Em maio de 2002 ela era a coor-
denadora da microrregional que concentra o maior número de acampa-
mentos e assentamentos no estado, na cidade de Água Preta, fronteira com
Alagoas13. 13.A entrevista foi rea-
lizada em um bar que
fica na garagem da casa
MARCELO: Você trabalhava aqui na Prefeitura?
da mãe de Judith, em
JUDITH: Eu trabalhava no programa Médico de Família. Eu trabalhava por contra-
Água Preta.
to em outras prefeituras. Na época que eu entrei no movimento, eu era funcionária
da prefeitura da cidade de Joaquim Nabuco.
Judith fez curso superior de enfermagem e administração de empresas na
cidade vizinha de Palmares. Sua adesão inicial ao movimento foi um prolon-
gamento de sua atividade profissional. Contratada pelos programas do go-
verno federal de combate à miséria e de controle de natalidade, seu trabalho
era mapear os grupos que apresentavam problemas de saúde e higiene. Se,
junho 2009 167
Vol21n1-d.pmd 167 7/7/2009, 17:11
Biografias e movimentos de luta por terra em Pernambuco, pp. 157-180
como ela me disse, sua vocação sempre foi ajudar os outros, ao visitar os acam-
pamentos do MST encontrou um modo distinto de aplicar seu saber técnico.
Primeiro, ela montou uma barraca em um acampamento vizinho à ci-
dade. Por um ano trabalhou como parteira em Joaquim Nabuco, vivendo
no acampamento. Ainda nesse ano, foi-lhe designado o posto de coordena-
dora de saúde do acampamento e, logo a seguir, de todos os acampamentos
de Água Preta. Nos meses seguintes assumiu a coordenação de saúde de
toda a regional Mata Sul. Atarefada e envolvida no movimento, no ano
seguinte abandonou seu emprego e se dedicou somente ao MST:
JUDITH: Eles [as pessoas da cidade] dizem assim: menina, como é que tu deixou
uma vida diferente. Tu deixou uma vida onde tu tava com pessoas das melhores.
Estava sempre com secretário de saúde, médico, enfermeiros formados da elite maior. E
hoje tu deixou tudo isso? Tu jogou para o alto? E tu estás hoje no meio dos sem-terra,
vândalos, pessoas precárias, pessoas que passam fome, que estão lá de pés descalços,
sujas. Eu falei: me sinto bem junto deles.
MARCELO: Você abriu mão de tudo isso?
JUDITH: Tudo. Tudo mesmo. [...] Você está junto com os sem-terra? Eu falei: Estou.
[...] Sem-terra me enche de orgulho. Muita gente se envergonha. Para mim é questão
de orgulho. Assim me sinto orgulhosa. Às vezes passo na cidade e ficam brincando
comigo: sem-terra!
MARCELO: Mas o que é que as pessoas que entram para o movimento sentem?
JUDITH: Sente assim uma vibração. Eu costumo brincar e dizer assim para o pes-
soal: olha, o movimento sem-terra é um vírus. Depois que contamina não tem
mais jeito. Na minha casa era difícil. Só eu era sem-terra. Meus filhos tinham uma
vida diferente. Quando eu entrei foi um tabu.
Ela tinha três filhos na época: uma menina de 12 anos, um rapaz de 17 e
outro de 23. Recebia cerca de setecentos reais por mês, o suficiente para
pagar escola particular para os filhos naquela cidade. A entrada no MST
também contribuiu para um afastamento daquilo que ela chama de socie-
dade local e para uma dedicação quase que total à vida de militante. A rejei-
ção inicial da família foi vencida quando seu filho de 17 anos foi convidado
a conhecer São Paulo e fazer um curso sobre história do Brasil com outros
militantes na Universidade Estadual de Campinas – Unicamp. Quando
voltou de Campinas, o menino começou a dar aulas sobre a história do pró-
prio movimento nos acampamentos. Logo a seguir foi enviado para a
Paraíba, para fazer um curso de técnico em agronomia.
168 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 168 7/7/2009, 17:11
Marcelo C. Rosa
Vendo o sucesso do irmão e da mãe, que assumiu em 2001 a coordena-
ção microrregional, o filho mais velho, que queria ser policial, agora traba-
lha como motorista da mãe e a substitui na coordenação quando ela viaja
para fazer cursos em Caruaru. Nesse caso, a família reaparece como ponto
fundamental para a inserção social dos indivíduos. A de Judith, no entanto,
somente passou a ser socialmente valorizada a partir do ingresso de sua
matriarca no MST. O status da família na pequena cidade não se dava –
como acontecia anteriormente – pela participação naquilo que Elias (2000)
chama de “boa sociedade”, mas pelo poder de negociar com as autoridades
locais em nome de um movimento.
Para Judith, a relativa inserção profissional não lhe prometia para o fu-
turo uma situação melhor do que a que tinha naquele momento. Apesar de
o emprego lhe proporcionar uma remuneração considerada por ela razoá-
vel, sua manutenção dependia da benesse do prefeito, pois era um contrato
temporário. Entre os sem-terra ela parece ter encontrado não apenas um
lugar para desempenhar sua vocação profissional, no sentido weberiano do
termo, mas uma possibilidade de exercer uma função ainda mais reconhe-
cida. Se no universo dos profissionais de saúde ela ocupava um dos meno-
res postos, no MST ela se transformou em uma figura de destaque, reco-
nhecida por toda a direção estadual, por autoridades locais e também por
sua própria família.
O depoimento de Judith resume boa parte do argumento que esses mi-
litantes mais experientes usam para justificar sua presença no MST. Márcia
e Turbina foram casos emblemáticos de pessoas que, antes de entrar no
MST, eram vistas com maus olhos em suas comunidades – ela havia sido
presa e ele estava desempregado. Certamente, esse engajamento não os li-
vrou dos estigmas passados, que tendem a ser reforçados pela imagem de
desordem que a imprensa faz do movimento. No entanto, ao adentrarem o
mundo do MST, que é um grupo também estigmatizado em qualquer lu-
gar do país, os atributos de desqualificação passam a ser encarados de ma-
neira positiva e as agruras do passado transformam-se em capital simbólico
para a ascensão na hierarquia do movimento.
Levando em conta as histórias e os depoimentos que apresentei com
brevidade até aqui, observa-se que, para as pessoas mais velhas, para as quais
a experiência com os sem-terra não significou sua primeira socialização co-
letiva – como no caso dos jovens, por exemplo –, o engajamento propor-
ciona-lhes o conforto e a justificação para suas condutas de outsiders na
região. Ser coordenadora do movimento permite que mulheres como Már-
junho 2009 169
Vol21n1-d.pmd 169 7/7/2009, 17:11
Biografias e movimentos de luta por terra em Pernambuco, pp. 157-180
cia e Judith comandem grupos de centenas de homens em acampamentos,
marchas e ocupações, sem que isso seja visto, ao menos dentro do MST, de
modo preconceituoso, como ocorreria em outros espaços também frequen-
tados por elas. Márcia já ocupava terrenos, Judith já ajudava as pessoas e
Turbina já tinha aspirações à luta política. Com a entrada no MST, foram
incentivados a participar oficial e diretamente das disputas políticas locais.
Esses casos são exemplos concretos da maneira como a chegada e a forma-
ção de um movimento social pode alterar as estruturas de poder e de signi-
ficação social numa determinada região.
Para além do MST
Se o contato com a vida dos militantes do MST contribuiu para a com-
preensão da importância do movimento social na significação individual
de moradores da Zona da Mata, ao se abordar suas dissidências compreen-
deremos os casos em que esse mecanismo não opera com o mesmo sucesso.
Ou seja, situações nas quais os papéis sociais criados pelo MST não se mos-
tram tão eficazes como nos casos citados.
Em 2003 havia pelo menos cinco movimentos que organizavam ocupa-
ções de terra na região, formados a partir de cizânias no MST. Dentro dos
limites deste artigo, tratarei com brevidade de dois casos que pude acompa-
nhar mais detidamente e que revelam com extrema clareza as possibilidades
de mudanças engendradas pelos movimentos naquela região.
O MTRUB – Movimento dos Trabalhadores Rurais e Urbanos do Brasil
O Movimento dos Trabalhadores Rurais e Urbanos do Brasil tem sua
sede na cidade de Amaragi. Essa cidade dista cerca de cem quilômetros do
Recife, e não existe linha de ônibus que as conecte. Para se chegar lá é preciso
tomar um coletivo até Escada (cerca de uma hora do Recife) e depois outro
veículo (um velho micro-ônibus ou, o que é mais rápido, uma picape com
carroceria adaptada com bancos de madeira) até a cidade.
Caminhando por cerca de trinta minutos desde o centro da cidade por
ruas de barro avista-se de longe um desbotado letreiro azul com a inscrição
“Movimento dos Trabalhadores Rurais e Urbanos do Brasil”.
No dia de minha visita fui recebido por seu Fernando, um homem que
aparentava cerca de 50 anos. Era um trabalhador rural que, na juventude,
havia trabalhado no corte de cana como clandestino (ou seja, sem receber
170 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 170 7/7/2009, 17:11
Marcelo C. Rosa
os direitos trabalhistas) e também em Recife, na construção civil. Quando
retornou para Amaragi, no final dos anos de 1980, foi morar num dos
bairros que se formavam na periferia dessa cidade. No início dos anos de
1990, junto com outros vizinhos, teria “botado um roçado” em um enge-
nho chamado Tapuia, que estava abandonado pela arrendatária14. 14.“Botar roçado” sig-
Em 1993, a filha do antigo arrendatário do engenho que tinha a posse nifica, nessa região,
da área há mais de setenta anos teria decidido repassá-la a outra pessoa, e cultivar uma pequena
parcela de terra, em
teria exigido na Justiça a expulsão do grupo de plantadores.
geral com uma lavou-
Como representante dos plantadores, seu Fernando recorreu ao que cha- ra de subsistência, em
mou de advogados do Estado. Essa tentativa também se mostrou pouco efi- uma área de proprie-
caz e, como último recurso, ele procurou o Incra, para onde levou as famí- dade de outra pessoa.
lias de posseiros em uma ocupação que imitava os modelos do MST.
Foi na sede do Incra que Fernando conheceu Jaime Amorim (principal
líder do MST na região). Dias depois, segundo Fernando, Jaime foi até sua
casa, em Amaragi, e propôs “botar a bandeira” do movimento no Engenho
Tapuia15. 15.Sobre a importân-
Em 1996, seu Fernando passou a fazer parte do MST, que “botou sua cia dos atos de “botar
a bandeira” nos acam-
bandeira” naquele engenho. Durante um período de aproximadamente dois
pamentos da região,
anos, ele participou do que chamou de “cursos de capacitação e de forma-
ver Sigaud (2000).
ção política”, promovidos pelo MST, em Caruaru e em Olinda. A situação
do Engenho Tapuia, no entanto, continuava indefinida.
Nesse ínterim, ele enfrentou uma série de conflitos com algumas lide-
ranças do MST. Segundo ele, dentro do MST o militante (a posição infe-
rior dos quadros desse movimento) teria pouca margem de ação em relação
aos dirigentes (quadros que estão acima dos militantes). Na sua expressão,
“a hierarquia queria dar a norma”, e isso não lhe parecia correto.
Segundo sua descrição de sua posição no MST, seu Fernando nunca
teria ocupado um lugar que considerasse expressivo na hierarquia desse
“movimento”. Decepcionado com o MST, optou por “trocar de movimen-
to”. Sua decisão não se deu em um espaço vazio: ela estava amparada por
uma disputa por áreas improdutivas que o MST travava, em sua cidade,
com o Movimento dos Trabalhadores (MT).
Sentindo-se pouco valorizado pelo antigo movimento, passou, juntamen-
te com todas as famílias que arrebanhara, para o MT, no qual se tornou
membro da diretoria. Sua relação com esse movimento também durou pouco
tempo. Segundo ele, certa vez reunira cerca de trezentos trabalhadores numa
ocupação próxima a Amaragi, numa terra que o MT havia garantido ser
improdutiva. A informação mostrou-se equivocada e a área teve que ser
junho 2009 171
Vol21n1-d.pmd 171 7/7/2009, 17:11
Biografias e movimentos de luta por terra em Pernambuco, pp. 157-180
desocupada logo a seguir. O equívoco da direção do movimento teria causa-
do sérios prejuízos à reputação de seu Fernando em Amaragi, que por isso
fora acusado, por um grupo de acampados, de enganar os trabalhadores
com promessas vãs.
Como é praxe entre os líderes dos movimentos e também entre trabalha-
dores acampados e assentados na Zona da Mata, seu Fernando ia frequente-
mente ao Incra (onde havia conhecido o líder do MST) para solicitar pressa
em processos de vistoria de propriedades com vistas à desapropriação.
Em uma dessas visitas ao Incra, seu Fernando teria sido aconselhado
pelo superintendente a deixar o MT e formar seu próprio movimento. Na
sua formulação, desse modo ele poderia se “livrar da hierarquia” que sus-
tentava a relação do MT com o Incra, e que determinava que apenas um
dirigente estadual estava autorizado a negociar com os órgãos oficiais.
Criando seu próprio movimento, seu Fernando deixou de ser apenas mais
um entre os diversos quadros que compõem as diretorias do MST e do
MT. Como ele mesmo frisou por diversas vezes em nossa conversa, “ter um
movimento” significa ter uma posição social privilegiada diante dos traba-
lhadores rurais de sua região (bem como diante do superintendente do
Incra). Significa ter mais obrigações e também maior reconhecimento local
de seus feitos.
Além da referida reputação conquistada entre seus pares, o líder e fun-
dador do MTRUB sugeriu que guardava um forte ressentimento em rela-
ção àqueles que denominava “elite em sua cidade”, pois nunca lhe teriam
permitido entrar para a “sociedade” de Amaragi. Na sua consideração, em
Amaragi lhe estiveram bloqueados os acessos à política partidária e também
ao sindicato de trabalhadores rurais.
Logo após formar seu movimento, seu Fernando condidatou-se a verea-
dor pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT, que lhe ofereceu uma
vaga na sua lista. Seu Fernando também viria a se tornar uma das pessoas
escolhidas pelo Incra para distribuir cestas básicas aos trabalhadores rurais
de sua cidade no tempo de entressafra. Com o poder de distribuir as cestas,
uma importante moeda política na região por garantir a alimentação das
famílias de trabalhadores da cana, ele passou a ser recebido por autoridades
que lhe cediam veículos para buscar os alimentos nos armazéns do governo
do estado, em Recife.
Pelo contato com seu Fernando e com as pessoas que lhe dão apoio, as
relações sociais que dão sentido a esses movimentos se tornaram mais claras.
A energia social que o movia é de ordem diversa daquela que tradicional-
172 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 172 7/7/2009, 17:11
Marcelo C. Rosa
mente agita a vida daquela cidade; ele não era membro das famílias tradi-
cionais, não havia sido socializado em partidos políticos e não era apadri-
nhado de nenhum chefe político local (o que passou a ocorrer depois de
formar seu movimento).
Seu envolvimento com a instância movimento inscreve-se num marco de
possibilidades concretas de agir que foram legitimadas pelo MST, quando
aprendeu os códigos sociais necessários, e pelo Estado, na figura do superin-
tendente do Incra, que, pessoalmente, entendia que a representação direta
dos interessados poderia acelerar os processos de desapropriação e diminuir
os conflitos internos aos grupos. Reconhecido pelo Incra, logo ele passou a
ser visto na cidade como alguém que detinha um tipo específico de poder: o
de incluir pessoas nas demandas por terras e cestas básicas.
O poder e a significação social de seu Fernando renderam-lhe bons
frutos ao lhe permitir entrar nas disputas de poder daquela cidade e tam-
bém de certas instâncias estaduais. Talvez por esses mesmos motivos ele
tenha sido brutalmente assassinado por matadores de aluguel em março
de 2007.
MTBST – Movimento dos Trabalhadores Brasileiros Sem-Terra
A pequena cidade de Amaragi foi também o cenário para o surgimento
de outro movimento, no ano de 2002. Em meu primeiro encontro com seu
principal líder, José Clemente, um homem solteiro de cerca de 30 anos, fui
até a sede do movimento, que fica na garagem de sua própria casa, na qual
vive com os pais e irmãos mais novos16. No fundo da peça que servia de 16.Essa mesma peça
local para as reuniões do grupo estava afixada na parede a bandeira verme- servia, ainda, como sala
de aula para o Progra-
lha com uma estrela branca no centro, que simboliza o grupo.
ma Comunidade Soli-
José Clemente, que nesse dia estava acompanhado do outro fundador dária, do governo Fer-
do movimento, chamado Alan, é um trabalhador rural que plantava com nando Henrique.
sua família em terras arrendadas nos engenhos da região de Amaragi. No
final dos anos de 1980, depois de algumas safras perdidas, toda a família
mudou-se para o núcleo urbano do município, onde alugaram uma casa.
Nessa época, entre 1998 e 1999, o MST ainda estava sendo representado,
na cidade, por seu Fernando (que depois passaria ao MTRUB). Se o MST
procurava pessoas para realizar um novo acampamento, José Clemente e
sua família buscavam uma nova “opção” para suas vidas. Esse fortuito en-
contro de perspectivas o levou a participar de um acampamento em busca
da tal parcela.
junho 2009 173
Vol21n1-d.pmd 173 7/7/2009, 17:11
Biografias e movimentos de luta por terra em Pernambuco, pp. 157-180
O acampamento acabou sendo desmontado e os acampados retornaram
para suas casas dias depois. Frustrada essa incursão no mundo dos movi-
mentos, no ano de 2000 ele foi para São Paulo, onde trabalhou no setor de
manutenção de uma escola particular por menos de um ano. Antes de vol-
tar a Amaragi, tentou a sorte na Paraíba, de onde retornou para novamente
tomar contato com o MST.
José Clemente fora coordenador de turma no primeiro acampamento, e
conhecia muitas das pessoas que haviam participado daquela mobilização.
Por isso, teria sido escolhido como coordenador do MST naquela cidade. A
sede do movimento passou a funcionar na casa de sua família, que, além da
infraestrutura, cedeu todos seus membros homens. José Clemente, seus pais
e seus irmãos tornaram-se a referência do MST na cidade, e organizaram
um novo acampamento com os remanescentes da primeira aventura.
A área que foi ocupada, indicada pela direção do MST, pertencia a uma
usina da cidade de Vitória de Santo Antão. O próprio José Clemente mon-
tou sua barraca e levou consigo seu vizinho.
Outra vez o acampamento não foi adiante e a responsabilidade pela
dificuldade dos líderes do MST em agilizar o processo de desapropriação
da área estendeu-se também a João Clemente, inculpado pela frustrante
aventura – afinal, ele próprio havia convidado muitos dos acampados.
Na hierarquia do MST, José Clemente não chegou a ocupar cargos de
coordenação regional ou estadual, assim como seu Fernando do MTRUB.
Para ele, o próprio volume de suas obrigações junto às pessoas de Amaragi
tomava todo o seu tempo, e não sobrava espaço para participar das reuni-
ões e cursos promovidos pelo MST. Em vez de ir aos cursos, ele passou a
enviar seus irmãos mais novos, que tinham mais tempo disponível.
Para ele, a falta de empenho dos dirigentes regionais do MST em resol-
ver o caso das famílias de Amaragi contribuiu para que desempenhasse fun-
ções que normalmente não estão ao alcance de militantes de sua posição,
como negociar com o Incra e verificar os títulos de propriedade das terras
improdutivas da cidade.
Ao recorrer aos cartórios e ao próprio Incra, ele foi se distanciando, aos
poucos, da direção do MST, e internalizando os códigos que regem a orga-
nização das reivindicações por terra na região. Aprendeu a dialogar com
funcionários do Incra e conheceu a lógica para a obtenção dos meios de
sustentação de um acampamento.
No caso de seu Fernando, a “hierarquia queria dar a norma”, e para José
Clemente parece ter ocorrido algo semelhante. Ocupando, na hierarquia
174 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 174 7/7/2009, 17:11
Marcelo C. Rosa
do MST, um degrau abaixo dos coordenadores regionais que entrevistei na
primeira parte deste trabalho, os líderes de Amaragi não tinham acesso a
certos espaços – como o Incra ou a prefeitura – nos quais se estabelece a
significação de suas vidas como dirigentes de um movimento. Nesses casos,
suas tarefas estavam limitadas às suas comunidades de origem, pelas quais,
sem os objetos ofertados pelo Estado, poderiam fazer muito pouco. Lem-
brando dos casos anteriores, os coordenadores somente eram reconhecidos
em suas cidades de origem porque dispunham do poder efetivo de conse-
guir desapropriações de terras e outros objetos ofertados pelo Estado, po-
der que antes, repito, estava concentrado nas mãos do binômio senhores de
terra/sindicalistas17. 17.Para compreender
Ao comparar os casos desses militantes, que saíram, com aqueles que melhor esse binômio,
permaneceram no movimento, agregamos mais um elemento que contribui ver Rosa (2004b).
para a compreensão de seu engajamento. A significação social desses indiví-
duos não é dada apenas pelo reconhecimento de sua importância pelas co-
munidades nas quais atuam, ela também é conquistada pelo contato indivi-
dual com representantes do Estado que têm o poder de reconhecê-los como
interlocutores e, por vezes, como uma extensão de seus domínios – como no
caso das cestas básicas.
Sentindo-se desamparados pelo MST, pois empenharam seu prestígio e
seu próprio dinheiro nos engenhos que demandavam, esses homens encon-
traram no Incra o apoio necessário para sua independência. Tal apoio, no
entanto, somente pode ser compreendido como uma longa relação peda-
gógica que desenvolveu uma linguagem e uma gramática que nas últimas
décadas tornaram possíveis as relações entre representantes do Estado e su-
jeitos identificados como sem-terra18. 18.Estudos mais com-
Para se tornar um movimento de fato, ou seja, para ser equiparado ao pletos sobre origem e
processo de formação
MST, o MTBST precisou se garantir, segundo seus fundadores, mediante
dessa linguagem po-
documentos apresentados aos órgãos ou pessoas físicas com os quais já ti- dem ser encontrados
nha estabelecido contato quando ostentava a insígnia da outra organização. em Sigaud, Rosa e
O mapa dos locais em que foram “espalhados” os documentos (no fórum, Macedo (2008).
na prefeitura, no Conselho Municipal de Agricultura e no sindicato de
trabalhadores rurais) é também um guia das instâncias (friso que se tratam
apenas de órgãos municipais) nas quais se busca reconhecimento público
de sua atuação.
Reconhecimento que de fato foi dado por meio da aceitação do registro,
no caso do fórum, e pela inclusão do movimento nos diversos conselhos
municipais que debatem a distribuição de recursos públicos no municí-
junho 2009 175
Vol21n1-d.pmd 175 7/7/2009, 17:11
Biografias e movimentos de luta por terra em Pernambuco, pp. 157-180
19.O registro no fó- pio19. No caso da prefeitura e da Secretaria de Agricultura, o registro indi-
rum mostrou-se eficaz cava também que o MTBST se tornava passível de receber algum tipo de
quando um dono de
benefício relacionado com os programas de reforma agrária. Esse caso de-
terras organizou um
falso acampamento em nota como os movimentos, no início da década de 2000, já faziam parte das
suas terras para que elas estruturas de significação locais. Uma resposta sobre as razões dessa transfor-
fossem incluídas na lis- mação não poderia ser única, no entanto. Uma de suas faces é
ta dos imóveis impe- indubitavelmente aquela que permite que por meio do movimento dos
didos, por Medida Pro-
sem-terra os recursos públicos passem a ser transferidos para pequenos
visória, de serem desa-
propriados. Como o
municípios do interior.
MTBST, um movi-
mento registrado, já ha- Novos movimentos, novos horizontes
via solicitado a desa-
propriação da área, a O reconhecimento público da importância do movimento e de seus
juíza local não acatou
líderes não se encerra nos limites da nova organização. Estar em um movi-
o pedido do proprie-
tário para que o pro- mento fornece condições para o ingresso em outros espaços sociais. Se, no
cesso de desapropria- começo, José Clemente queria uma “terra para trabalhar”, depois de ter
ção fosse suspenso. experimentado a forma movimento suas expectativas em relação ao futuro
em Amaragi se alteraram.
O prestígio repentino como líder de um movimento rendeu-lhe um lu-
gar no PSL – Partido Social Liberal – e depois no PAN – Partido dos Apo-
sentados da Nação. Pela forma como ele estabelece essa relação, pode-se
vislumbrar que um movimento pequeno dá assento num partido igualmen-
te pequeno. Mas seu prestígio foi se elevando – foi procurado por um can-
didato a deputado e, posteriormente, foi convidado a mudar de partido e a
se candidatar à presidência do partido na cidade. Se tudo corresse bem,
poderia ainda almejar a uma vaga de vereador, assim como já fizera o líder
do MTRUB, e depois, como revelou, passar a um partido maior.
A inusitada transformação em líder forneceu elementos para que ele
planejasse incursões futuras em lugares sociais anteriormente interditados,
como, por exemplo, o Sindicato de Trabalhadores Rurais.
O caminho que começou timidamente nas fileiras do MST contribuiu,
nesse caso, para o envolvimento cada vez maior dos fundadores do MTBST
em outras instâncias e organizações locais, dispondo, numa mesma trama,
partidos políticos, conselhos municipais e sindicatos. Para eles, o acesso a
todas essas instituições era a principal diferença entre um membro de um
movimento e uma pessoa comum. O mesmo teria acontecido com o funda-
dor do MTRUB, que perdeu sua vida justamente porque ela tinha um
significado maior que sua existência física.
176 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 176 7/7/2009, 17:11
Marcelo C. Rosa
Conclusão
Este trabalho teve como um dos seus objetivos uma análise dos impactos
da atuação do MST nas pequenas cidades da região canavieira de Pernam-
buco. Ao longo do texto, tais impactos foram importantes para demarcar
um conjunto de questões sociológicas que emerge dessa análise. A principal
delas é o que chamamos, com apoio na obra de Norbert Elias, de significação
social. Para este autor, a noção de significação permite tratar de forma dinâ-
mica a relação entre indivíduos e sociedade sem que um polo ou outro seja
necessariamente privilegiado. Segundo Elias (1997, p. 222), cada estrutura
ou figuração social possui instituições a cujo pertencimento e funções cuja
execução fornecem sentido à existência social de indivíduos. Tomando os
conflitos geracionais entre os alemães do século XX, o autor mostra que tais
instâncias se transformam justamente porque os sujeitos sociais se remetem
a elas de forma reflexiva. Estar ou não estar em um lugar significativo para os
homens de seu tempo e lugar é uma questão pela qual todos os indivíduos
passariam em sua existência, pois todos seriam capazes de reconhecer e
mapear seu meio.
O que pudemos observar ao estudar o caso do movimento dos sem-
terra em uma região específica é o fato de que muitas pessoas, ao tomarem
contato com essas novas instâncias de poder, as viram também como ins-
tâncias de significação social. Os casos de indivíduos socializados no mun-
do das ocupações e acampamentos levados a Pernambuco pelo MST per-
mitiram observar esse fato com clareza. Se as adesões em geral se deram em
um momento da vida no qual a posse da terra poderia significar uma mu-
dança, logo a seguir os sujeitos em questão passaram a ver que a vida nos
próprios movimentos era também uma possibilidade de existência social
digna. Tanto a terra como os próprios movimentos podem ser lidos aqui
como objetos que permitem a integração de indivíduos em canais políticos
que no passado estavam relativamente bloqueados. Eles representam uma
mudança na estrutura de significação, especialmente se tivermos em conta
que os casos analisados ocorreram em municípios cuja população é sempre
menor que 30 mil habitantes.
A comparação entre os casos de diferentes gerações de militantes que na
época estavam ligados ao MST com os daqueles que romperam com o mo-
vimento originário possibilita também compreender que não se trata de
uma adesão incondicional ou irrefletida ou da única opção existente. Os
sujeitos com os quais convivemos foram conduzindo sua vida em movi-
junho 2009 177
Vol21n1-d.pmd 177 7/7/2009, 17:11
Biografias e movimentos de luta por terra em Pernambuco, pp. 157-180
mento na medida em que essas instituições lhes foram sendo pessoal e cole-
tivamente importantes. Quando a vida pessoal se viu prejudicada pelo mo-
vimento, militantes como Miguel se retiraram da luta, e outros, como os
fundadores do MTRUB e do MTBST, trataram de moldá-los às suas possi-
bilidades. Vemos também por meio desses casos que os movimentos não
chegaram na região para ocupar um vácuo social. Eles se estabeleceram por
meio de corpos cuja socialização prévia lhes permitia investimentos diferen-
ciados no local, desde ambíguas relações familiares, como no caso das mu-
lheres com filhos que se tornaram lideranças, até aqueles que com algum
capital transformaram suas casas em sedes de seus próprios movimentos. A
expressão “luta pela terra” ganha nesse contexto sentidos diferentes porque
mistura e une histórias sociais distintas. Múltiplas socializações, como afir-
ma Lahire (2006), que não podem ser reduzidas a um habitus ou conjunto
de disposições que fosse homogêneo no passado da cana, e que não será
homogêneo no futuro porque todos passaram pelo MST. Cada um desses
sujeitos imprime sua própria marca a esse processo porque ele também os
atinge com características próprias e diferenciadas.
20. Ver especialmente o
A morte, depois de terminada a pesquisa, de um dos principais persona-
trabalho de Wolford
(2006). Na tentativa de
gens deste trabalho é um indicador incrivelmente forte de como a chegada
mostrar que o MST não desses movimentos alterou o destino de muitas pessoas na região. Altera-
alterou tão profunda- ções que não mudam todos os valores e as formas de significação social do
mente quanto ela supu- lugar, mas que também não permitem um fácil retorno aos modelos de
nha os valores sociais da inserção social do passado, como fazem crer alguns dos analistas desse mes-
região, a autora acaba
mo processo20.
por afirmar que “quanto
mais as coisas mudam,
mais elas continuam as
mesmas”. Seguindo as Referências Bibliográficas
próprias pistas que essa
autora deixa ao longo
BOLTANSKI, L. (2000), El amor y la justicia como competencias. Buenos Aires, Amorrutu.
desse interessante traba-
lho e de outros, é impor- ELIAS, N. (1997), Os alemães: a luta pelo poder e a evolução do habitus nos séculos XIX
tante notar que a exis- e XX. Rio de Janeiro, Jorge Zahar.
tência de novas possibi- _____. (2000), Os estabelecidos e os outsiders. Rio de Janeiro, Jorge Zahar.
lidades já é uma altera- FERNANDES, Bernardo Mançano. (1999), MST. Formação e territorialização em São
ção significativa naque-
Paulo. São Paulo, Hucitec.
le espaço social e que se-
_____. (2000), A formação do MST no Brasil. Petrópolis, Vozes.
ria difícil afirmar que
não houve mudanças GARCIA JR., A. R. et al. (2001), “Les transformations du pouvoir municipal”. Cahiers
sociais associadas a esses du Brésil Contemporain, 43/44: 124-144.
movimentos. LAHIRE, B. (2006), A cultura dos indivíduos. Porto Alegre, Artes Médicas.
178 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 178 7/7/2009, 17:11
Marcelo C. Rosa
MARTINS, J. de S. (2000), Reforma agrária: o impossível diálogo. São Paulo, Edusp.
MEYER, D. S., WHITTIER, N. & ROBNETT, B. (orgs.). (2002), Social movements: iden-
tity, culture and the state. Oxford, Oxford University Press.
MOORE JR., B. (1978), Injustiça: as bases sociais da obediência e da revolta. São Paulo,
Brasiliense.
NAVARRO, Z. (2002), “Mobilização sem emancipação: as lutas sociais dos sem-terra
no Brasil”. In: SANTOS, Boaventura de Sousa. Produzir para viver: os caminhos da
produção não capitalista. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, pp. 189-232.
PALMEIRA, M. G. S., LEITE, Sergio, HEREDIA, Beatriz, MEDEIROS, Leonilde & CINTRÃO,
Rosângela. (2004), Impacto dos assentamentos: um estudo sobre o meio rural brasilei-
ro. 1ª edição. Brasília/São Paulo, NEAD/Ed. Unesp, 392 p.
ROSA, M. (2004a), O engenho dos movimentos: reforma agrária e significação social na
zona canavieira de Pernambuco. Tese de doutorado. Iuperj, Rio de Janeiro.
_____. (2004b), “As novas faces do sindicalismo rural brasileiro: a reforma agrária e
as tradições sindicais na Zona da Mata de Pernambuco”. Dados, 47 (3): 473-404.
SAYAD, A. (1998), A migração: ou os paradoxos da alteridade. São Paulo, Edusp.
SIGAUD, L. (1996), “Direito e coerção moral no mundo dos engenhos”. Estudos His-
tóricos, 18: 361-387.
_____. (1999), “Honneur et tradition dans les plantations sucrières du nordeste
(Brésil)”. Études Rurales, jan.-jul., pp. 211-228.
_____. (2000). “A forma acampamento: notas a partir da versão pernambucana”.
Novos Estudos Cebrap, 58: 73-92.
SIGAUD, L., ROSA, M. & MACEDO, M. (2008), “Ocupações de terra, acampamentos e
demandas ao Estado: uma análise em perspectiva comparada”. Dados, 51: 107-142.
THOMPSON, E. P. (1998), Costumes em comum: estudos sobre a cultura popular tradicio-
nal. São Paulo, Companhia das Letras.
TILLY, C. (1995), “Los movimientos sociales como agrupaciones históricamente espe-
cíficas de actuaciones políticas”. Sociológica, ano 10 (28).
WOLFORD, Wendy. (2006), “The Difference Ethnography Can Make: Understanding
Social Mobilization and Development in the Brazilian Northeast”. Qualitative
Sociology, 29 (3): 335-352, set.
Resumo
Biografias e movimentos de luta por terra em Pernambuco
Este artigo analisa a contribuição das chamadas “lutas por terra” para a produção de
novas formas de significação social na região da Zona da Mata de Pernambuco. Por
meio da análise de entrevistas com militantes dos diversos movimentos que organizam
junho 2009 179
Vol21n1-d.pmd 179 7/7/2009, 17:11
Biografias e movimentos de luta por terra em Pernambuco, pp. 157-180
ocupações de terra na região, foi possível compreender que, além da posse de um
pedaço de terra, tais organizações criam condições inéditas para a transformação dos
seus líderes em figuras de destaque nas instâncias políticas dos pequenos municípios
da região, contribuindo assim para a modificação das estruturas tradicionais de poder.
Palavas-chave: Movimentos sociais; Significação social; MST; Sem-terra; Pernambuco.
Abstract
Biographies and land claim movements in Pernambuco
This paper analyzes the contribution of so-called ‘land struggles’ in the creation of new
forms of ‘social meaning’ in a sugar plantation region of the Brazilian Northeast. Analysis
of interviews with militants from various movements coordinating land occupations
in the region reveals that, as well as supporting rural people’s access to land, these
organizations enable their leaders to become prominent figures in local urban politics,
thereby contributing to the modification of traditional power structures.
Keywords: Social movements; Social meaning; Local impacts; Landless rural workers;
Pernambuco.
Texto recebido em 8/
10/2008 e aprovado
em 9/12/2008.
Marcelo C. Rosa é pro-
fessor do Departamen-
to de Sociologia e do
Programa de Pós-Gra-
duação em Sociologia
da Universidade de
Brasília e pesquisador
do CNPq. E-mail: mar
celocr@uol.com.br.
180 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 180 7/7/2009, 17:11
Uma defesa da comunidade
Luiz Carlos Jackson
Apesar de ter desempenhado papel central no período de formação das
ciências sociais em São Paulo, a importância da obra e da atuação institu-
cional de Emílio Willems (1905-1997) não foi ainda plenamente avaliada1. 1. Entre os textos que
O texto O problema rural brasileiro do ponto de vista antropológico, republi- discutem sua trajetória e
obra, ver Glaucia Villas
cado neste número da Tempo Social, foi editado e distribuído gratuitamente
Boas, “De Berlim a
em 1944 – como um opúsculo – pela Diretoria de Publicidade Agrícola, Brusque, de São Paulo a
vinculada à Secretária da Agricultura, Indústria e Comércio do Estado de Nashville: a sociologia
São Paulo, que também publicou Cunha: tradição e transição em uma comu- de Emílio Willems en-
nidade rural do Brasil, em 1947. tre fronteiras”. Tempo
O apoio estatal – intermediado provavelmente por Carlos Borges Social, 12 (2), nov. de
2000; Nísia Trindade
Schmidt, que por essa época dirigia a Diretoria de Publicidade Agrícola2 –
Lima, Um sertão chama-
na edição de seus escritos indica um dos pontos de sustentação de Emílio do Brasil. Rio de Janeiro,
Willems no campo intelectual paulista nos anos de 1940. Outros e mais Revan/Iuperj, 1998.
determinantes foram seus vínculos profissionais com a Faculdade de Filo- 2.Sobre Carlos Borges
sofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, onde obteve a livre- Schmidt e sua gestão
docência em 1937 e assumiu a cátedra de Antropologia em 1941, e com a nesse órgão, ver Maria
Escola Livre de Sociologia e Política, para a qual, nesse mesmo ano, foi de Lourdes Zuquim,
Os caminhos do rural:
convidado pelo sociólogo norte-americano Donald Pierson, para lecionar
uma questão agrária e
na Divisão de Estudos Pós-Graduados. O antropólogo alemão foi ainda o ambiental. São Paulo,
principal mentor e editor (com Romano Barreto) de Sociologia, primeiro Senac, 2007.
periódico especializado nessa matéria, entre 1939 e 1949. Nesse contexto,
Vol21n1-d.pmd 183 7/7/2009, 17:11
Apresentação, pp. 183-185
publicou, além dos textos citados, os livros Dicionário de etnologia e sociolo-
gia (1939), Assimilação e populações marginais no Brasil (1940), Aculturação
dos alemães no Brasil (1946), Dicionário de sociologia (1950) e inúmeros
artigos.
Como editor da revista mais prestigiosa do período e professor das duas
escolas, Willems logrou reuni-las temporariamente numa espécie de “proje-
to ecumênico”. Estimulados por ele, alunos graduados na USP realizaram o
mestrado na ELSP durante a década de 1940, entre os quais Florestan Fer-
nandes e Gioconda Mussolini. Além disso, Sociologia publicou os primeiros
trabalhos desses então jovens cientistas sociais e também artigos de Roger
Bastide. Foi com Donald Pierson, entretanto, que estabeleceu sua aliança
mais forte e decisiva. Juntos formularam o primeiro programa de pesquisas
levado a cabo pela sociologia paulista, o dos “estudos de comunidades”.
A liderança que os dois exerceram durante os anos de 1940 seria desfei-
ta, entre outras razões, por uma recepção extremamente negativa dos “estu-
dos de comunidades”, iniciada pela resenha de Caio Prado Jr. a Cunha, pu-
blicada na revista Fundamentos, no ano de 1948. O autor de Formação do
Brasil contemporâneo (1942) criticou duramente o empirismo que caracte-
rizaria o trabalho de Willems, associando esse aspecto a uma possível visão
política conservadora. Explícita ou implicitamente, esse argumento seria
assimilado pelos cientistas sociais da USP, sobretudo por Florestan Fernan-
des e grupo, nas décadas seguintes, mas também por Gioconda Mussolini e
Antonio Candido.
Embora seja injusto dizer que em Cunha esteja ausente a teoria – o
autor se apoia em inúmeros trabalhos realizados pela Escola de Chicago,
sobretudo em Folk Culture of Yucatan, de Robert Redfield –, é válida a
crítica que contesta a timidez de suas conclusões sobre o problema analisa-
do naquele livro, a transformação das sociedades caboclas diante do proces-
so de urbanização. Por isso mesmo, vale a pena retirar o pó que recobre O
problema rural brasileiro do ponto de vista antropológico, texto pouco conhe-
cido, de difícil acesso e que pode ser lido como um programa geral dos
“estudos de comunidades” que seriam realizados em seguida.
Menos comprometido nesse trabalho com os pressupostos teóricos e
metodológicos que orientaram esses estudos, sobretudo com a exigência de
realizar pesquisa empírica exaustiva antes de fazer qualquer generalização,
Willems explicita nele sua hipótese geral sobre a constituição histórica e
social do mundo rural no Brasil, a qual valoriza a autonomia das “socieda-
des caboclas”, afirmando o sucesso relativo por elas logrado na colonização
184 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 184 7/7/2009, 17:11
Luiz Carlos Jackson
miúda dos “sertões” brasileiros, desde o século XVI. Afirma ainda, com
todas as letras, que as dificuldades enfrentadas por tais grupos nada tinham
a ver com condicionantes biológicos. Acredito que, dessa perspectiva, não
devamos entender a segunda parte de Cunha, que registra medições antro-
pométricas da população estudada (desprovida de importância para o leitor
contemporâneo), como indício de uma suposta visada racista por parte do
autor.
Enfim, não é demais relembrar que a fase de maior aproximação entre a
USP e a ELSP, diretamente relacionada com a presença de Emílio Willems,
foi determinante para o desenvolvimento futuro do projeto acadêmico e do
programa de pesquisas liderado por Florestan Fernandes à frente da Escola
Paulista de Sociologia, nas décadas de 1950 e 1960. O sociólogo percebeu
naquele momento que o alcance de uma pesquisa coletiva ultrapassava muito
qualquer empreendimento individual e, também, que a fundamentação
empírica de uma análise sociológica deveria ser extremamente rigorosa. Da
mesma maneira, devemos reconhecer que a maioria dos estudos sociológi-
cos e antropológicos sobre as sociedades rurais, realizados depois de Cunha
e de outros “estudos de comunidades”, lhes são diretamente devedores.
Emílio Willems transmigrou para os Estados Unidos em 1949, em fun-
ção das condições de trabalho que lhe foram oferecidas pela Universidade de
Vanderbilt (na qual se aposentou em 1974) e, eventualmente, também por
ter se sentido traído por seus alunos, fato que pode estar implícito na passa-
gem seguinte de um curto depoimento que forneceu a pedido de Marisa
Correa: “Não quero mencionar aqui as várias causas que determinaram a mi-
nha transmigração para os Estados Unidos. Uma delas reside no fato de que
fui convidado por uma instituição especializada em estudos brasileiros”3. 3. Marisa Correa (org.),
De todo modo, importa menos conhecer os motivos que determinaram História da antropologia
sua saída do Brasil do que investigar o papel decisivo que desempenhou no Brasil (1930-1960).
Testemunhos: Emílio
entre nós, por meio de sua obra e de sua atuação institucional. Essa tarefa
Willems e Donald Pier-
envolve reconsiderar a importância dos “estudos de comunidades”, missão son. Campinas, Edito-
possível atualmente por estarmos distantes das disputas acadêmicas e polí- ra da Unicamp/Vérti-
ticas que os desqualificaram. ce, 1987.
junho 2009 185
Vol21n1-d.pmd 185 7/7/2009, 17:11
O problema rural brasileiro do ponto de vista
antropológico*
Emílio Willems
*
A heterogeneidade cultural do Brasil Texto publicado pela
Secretaria de Agricul-
tura, Indústria e Co-
Se for traçada uma reta, no mapa do Brasil, ligando a cidade de São Paulo às
mércio do Estado de
cabeceiras do Xingu, no planalto mato-grossense, encontra-se, ladeando São Paulo, 1944.
essa linha, uma série de agrupamentos humanos culturalmente muito hete-
rogêneos. Numa extremidade está a metrópole moderna representando um
tipo de civilização urbana que se está rapidamente difundindo em todas as
zonas da Terra onde entrou a cultura ocidental. Tipos mais antigos de civili-
zação urbana lhe cedem lugar e este ato se exprime pela substituição de bair-
ros antigos, com sua arquitetura multissecular, por uma espécie de
edificação urbana altamente estandardizada. Esse fenômeno se processa, de
maneira semelhante, nas metrópoles sul-americanas, nas cidades medievais
da Europa e nas antigas cidades asiáticas.
Acompanhando a reta, depara-se com um tipo de cultura rural estreita-
mente ligado à cidade: estradas atravessam-na, seus homens trabalham e
produzem para mercados e toda a sua vida está organizada de maneira a
satisfazer as necessidades desses mercados. Se, por qualquer motivo que, às
vezes, escapa à compreensão desses produtores rústicos, os mercados dei-
xam de absorver sua produção ou lhes diminuem a compensação monetá-
ria, a sua vida se torna extremamente difícil, pois a sua subsistência material
depende de troca monetária e lucro.
Vol21n1-d.pmd 187 7/7/2009, 17:11
O problema rural brasileiro do ponto de vista antropológico, pp. 187-210
Prosseguindo pela reta encontram-se, já bem mais distantes do ponto de
partida, populações caboclas cuja vida parece decorrer em um mundo dife-
rente do nosso. Pouco ou nada as liga ao mercado urbano. Não dependem
dele e o uso que fazem do dinheiro é muito restrito. Altas ou baixas do café
ou do algodão não as atingem, porque não plantam esses produtos ou, se os
plantam, a produção destina-se apenas ao consumo pessoal. Geralmente se é
impiedoso com essas populações; aplicam-se-lhes epítetos como “atrasadas”,
“indolentes” e outros, menos lisonjeiros ainda. Vivem de uma maneira
julgada indigna e desprezível. Acha-se que deviam trabalhar e produzir mais
e melhor, que deviam adubar suas roças, usar sabão, escola, parteira, farmá-
cia e médico. Se se perguntar a um de seus indivíduos se conhece o nome do
presidente da República, ele não entenderá bem o sentido da nossa pergun-
ta. Pouco se incomodarão com o nosso conselho de curar ou evitar a anqui-
lostomíase. Embora falem português, não parece fácil entender-se com eles.
A impressão de se falar a estranhos robustece-se à medida que se aproxi-
ma a outra extremidade. O contato com populações indígenas repete-se.
Não se lhes entende a linguagem e muitas das suas ações permanecem com-
pletamente ininteligíveis. Delas se ouve talvez que, à direita e à esquerda,
ainda vivem tribos que se esquivam, o mais possível, ao contato com a
civilização branca.
É claro que, nessa viagem rápida, se percebem apenas os fatos superficiais
e muitas vezes sem lhes compreender o significado. Ao ininteligível aplicam-
se termos cômodos, patenteados pela civilização urbana: O caboclo é um
“doente”, um “subalimentado”, um “indolente”, um “analfabeto” que vive “ao
deus-dará”, “mergulhado nas trevas da ignorância e superstição”, em “habi-
tações infetas” etc. Fica-se indignado quando o caboclo prefere o curandeiro
ao médico, a magia ao remédio e, se ele não liga para a escola, chamam-no
“atrasado”. No caso do índio, o “pitoresco” e “selvagem” vêm associar-se aos
tributos com que se qualifica a vida do caboclo. Não se compreende o cabo-
clo e muito menos o índio. E eles não nos compreendem. As tentativas de
modificar-lhes a vida acabaram geralmente em fracassos que muitas vezes se
teve o cuidado de ocultar. A ultima ratio e a menos racional de todas é a acu-
sação que se lança à “raça” ou à “mistura de raças”: o índio ou caboclo seria
“biologicamente” incapaz de assimilar-se à nossa civilização...
Nesta falta de compreensão mútua eu vejo a prova mais evidente de se
tratar realmente de culturas diversas que, no Brasil, se localizam dentro das
mesmas fronteiras políticas. Parece-me que entre todas as conceituações de
cultura, aquela que a define em termos de um sistema de common unders-
188 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 188 7/7/2009, 17:11
Emílio Willems
tandings, de entendimentos comuns, é a mais adequada. Não existe um siste-
ma de entendimentos que possa servir de base comum à civilização urbana e à
multiplicidade das culturas sertanejas. Antes de tentar qualquer estudo, é pre-
ciso compenetrar-se do alcance desse fato que não é raro e pode ser observa-
do nas regiões mais diversas do mundo. Admite-se, em geral, que chegou
uma fase sumamente crítica para essas culturas regionais, isoladas e voltadas
sobre si. A tendência que se nota em toda parte é a de absorver as comunida-
des isoladas, incorporá-las à “grande sociedade” cujas malhas já cobrem a
maior parte do globo e vão se estreitando cada vez mais. Essa tendência
parece obedecer, em boa parte, a forças sociais não controladas, mas, por
outro lado, a integração das culturas isoladas, primitivas ou semiprimitivas,
afigura-se aos civilizados como “dever moral”. Deixo de lado o aspecto ideo-
lógico da questão, restringindo-me à verificação de que os civilizados que
assim pensam julgam beneficiar os “pobres selvagens e caboclos”. A visão
que eles têm da situação das culturas sertanejas é inteiramente etnocêntrica.
É óbvio que não pode deixar de sê-lo, visto tratar-se de leigos bem-intencio-
nados que transferem suas concepções éticas, toda sua escala de valores, pró-
prios à civilização urbana, a sistemas sociais pautados sobre outros valores e
outras normas de comportamento. Contrariamente ao que em geral se pen-
sa, as culturas sertanejas do Brasil têm sua organização social, quer dizer, os
seus componentes vivem integrados numa rede de inter-relações que lhes
trazem obrigações e compensações mútuas. E essa sociedade possui um tipo
(ou tipos) de família e associação vicinal, regimes de trabalho e técnicas des-
tinadas a produzir os artefatos necessários, sistemas de trocas, meios de
transporte, práticas tradicionais para lidar com forças sobrenaturais, conhe-
cimentos para tratar doentes e parturientes, jogos e festas para compensar as
obrigações que o sistema social impõe a seus membros e uma educação para
transmitir o patrimônio cultural (sem que a arte de ler e escrever possa ter
uma função na transmissão tradicional). Ao lado de um corpo de conheci-
mentos, práticas e crenças destinado a controlar o natural e o sobrenatural,
existe um sistema de controle social com sanções específicas. Há mais de
quatro séculos que esta sociedade vive, crê, trabalha, se diverte e educa. Não
há motivos para se acreditar que seus modos de pensar, agir e sentir tenham
sofrido grandes modificações nos quatro séculos de existência. As experiên-
cias que seus membros acumularam nesse respeitável lapso de tempo prova-
ram mil vezes ser adequadas, pois não somente garantiram a subsistência
dos vivos mas permitiram um aumento incessante da população sertaneja.
Durante quatro séculos, o caboclo não deixou de conquistar os sertões e de
junho 2009 189
Vol21n1-d.pmd 189 7/7/2009, 17:11
O problema rural brasileiro do ponto de vista antropológico, pp. 187-210
enchê-los, pouco a pouco, de povoadores. Muitos imigrantes aportados
aqui, no último século, aprenderam que o modo de vida do caipira é o único
possível em determinadas circunstâncias. E aqueles que não quiseram
aprender fracassaram porque os seus métodos eram “superiores”. Mas os
“italianos” e “alemães” acaboclados sobreviveram e contribuíram para o po-
voamento dos sertões meridionais.
Exemplos não faltam. Na colônia Feliz (Rio Grande do Sul), os imigran-
tes alemães resolveram, em 1846, trabalhar apenas dois ou três dias por se-
mana. A venda do milho e feijão mal lhes dera algumas patacas, preço esse
que não compensava nem o trabalho nem o transporte, dispendioso e difí-
cil. Nos dias em que não trabalhavam, os colonos reuniam-se para matar o
tempo em bebedeiras, escolhendo como local, alternadamente, as suas pró-
prias casas. É um exemplo clássico de quebra de um padrão cultural: o tra-
balho permanente cede lugar ao trabalho intermitente, evidenciando o grau
de desenvolvimento econômico. Os chamados alemães de Itapecerica, San-
to Amaro, Guareí e Sorocaba poderiam ser citados como exemplos da mes-
ma categoria. Em determinadas condições, as culturas isoladas, rurais e
semiprimitivas exercem um poder de absorção não inferior ao de qualquer
civilização urbana. Mas a nossa mentalidade ainda está contaminada pelo
vírus evolucionista e pela crença no progresso a ponto de recalcarmos casos
de desnivelamento cultural que não se ajustam ao nosso esquema de vida.
Este condiciona a classificação vulgar das culturas em “superiores” e “infe-
riores”. As últimas julgamos “atrasadas” e nesse juízo já vai implicitamente o
postulado de uma intervenção destinada a elevar a cultura “inferior” ao ní-
vel estabelecido pelas sociedades ocidentais que, generosamente, se atribu-
em a si próprias qualidades superiores.
Aspectos gerais da intervenção nas culturas sertanejas
Em que se pretende transformar as culturas caboclas do Brasil? Que
qualidades se deseja que o caipira adquira em contato com a civilização?
A resposta poderia ser formulada da seguinte maneira: deseja-se que ele
abandone o seu estado de relativa autossuficiência; que sinta necessidades
novas e se torne, em proporções apreciáveis, produtor e consumidor; que
constitua família legal; que registre seus filhos e os mande à escola; que
pague impostos e seja patriota consciente; que adquira hábitos sanitários e
alimentares, adequados à conservação da saúde e à diminuição do coefi-
ciente de mortalidade.
190 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 190 7/7/2009, 17:11
Emílio Willems
Contanto que o caboclo se queira sujeitar ao regime de trabalho imposto
pela civilização capitalista, oferecem-se-lhe, em compensação, uma existên-
cia julgada mais digna, habitações mais salubres, médico, escolas, farmácias,
parteiras, hospitais, igrejas, conhecimentos e artefatos, técnicas e hábitos
tomados de empréstimo à civilização urbana. Porém, nessa conta há um
erro que facilmente escapa à atenção do reformador. É que nem todos esses
fatores com que se pretende conquistar o caboclo podem ser controlados
pelo civilizador generoso. Não se esqueça de que a autossuficiência do cabo-
clo é a sua única defesa que o mantém a distância da instabilidade crescente
da economia capitalista. Articulado com os mercados, ele troca a sua relativa
invulnerabilidade com uma vida que se julga mais confortável e digna, fi-
cando sujeito, no entanto, a todas as oscilações e abalos que caracterizam o
sistema capitalista e que escapam, em seus aspectos fundamentais, ao con-
trole regional e nacional. Pode-se, talvez, persuadir o caipira a plantar fumo,
tungue, mamona ou qualquer outro produto promissor. Mas os preços que
os mercados mundiais oferecem por esses produtos não dependem da boa
vontade dos funcionários que introduziram a nova lavoura. Uma baixa nos
Estados Unidos, na Argentina ou na Índia pode aniquilar todas as esperan-
ças e ai do pequeno lavrador que substituiu as suas primitivas roças de milho
e feijão pelas culturas novas. Esta hipótese lhes traz realmente a miséria, ao
passo que à situação anterior ele dificilmente aplicaria o mesmo termo. Não
pode haver dúvida de que a existência vegetativa e autossuficiente das popu-
lações sertanejas do Brasil e de muitos países latino-americanos, ainda que
seja uma afronta ao espírito capitalista, é mil vezes preferível à verdadeira
miséria por exemplo daqueles 300 mil lavradores norte-americanos cuja
sorte nos descreveu John Steinbeck em As vinhas da ira.
Essas reflexões devem necessariamente preceder qualquer tentativa de
intervir nas culturas caboclas. Nunca é demais insistir sobre o fato de que,
dentro do sistema econômico atual, as dádivas da civilização urbana pos-
suem realmente esse reverso. A absorção das pequenas culturas isoladas e
autossuficientes pode acarretar-lhes os benefícios imaginados pelos refor-
madores, mas pode também trazer os “malefícios” que agem, nas próprias
civilizações urbanas, como germens de desagregação e revolta.
Que significa para as culturas caboclas a intervenção deliberada e dirigi-
da da civilização urbana? Significa-lhes a eliminação de elementos julgados
indesejáveis e o enxerto de elementos desejados pelo reformador. Acha-se,
por exemplo, que a filosofia do “plantando dá” deve ser substituída por
outra, mais “produtiva”. Para tanto bastaria, no entender do leigo, explicar
junho 2009 191
Vol21n1-d.pmd 191 7/7/2009, 17:11
O problema rural brasileiro do ponto de vista antropológico, pp. 187-210
ao caboclo as vantagens que residem numa intensificação das atividades
agrícolas, provê-lo de ferramentas adequadas, sementes escolhidas e, talvez,
de algum crédito... Na realidade, porém, seria preciso mudar um regime de
trabalho multissecular, regime esse que representa um complexo cultural
inteiro. Seus traços consistem em padrões de comportamento baseados nas
experiências de muitas gerações, em hábitos-motores adquiridos na infân-
cia, em técnicas de trabalho, em maneiras de sentir e pensar alheias à for-
mação de necessidades, as quais são julgadas tão naturais que dificilmente
se poderia imaginar a vida sem os seus estímulos. Acresce que o regime de
trabalho não pode ser substituído por outro sem que ocorram mudanças
em outras esferas da cultura cabocla. Pois o regime de trabalho está quase
sempre ligado a determinadas concepções do tempo, organização da famí-
lia, à alimentação, à religião, ao descanso e às atividades recreativas. Como
entre certos índios, a expressão “amanhã” ou “dispois de amanhã” frequen-
temente não encerra, para o caboclo, a ideia de um dia certo, mas simples-
mente o tempo que segue o dia de hoje. Em condições de vida que nunca
engendram a necessidade de uma medição exata do tempo, a diferença de
horas ou dias não representa problema nenhum.
Qualquer regime de trabalho contém formas de cooperação e divisão do
trabalho. A mudança do regime afeta necessariamente a organização exis-
tente, distribuindo diversamente as obrigações dos indivíduos integrados
no grupo básico que, entre nós, é geralmente a família. Mas uma redistri-
buição das obrigações e compensações pode modificar a posição social de
marido ou mulher, dos filhos adultos, dos adolescentes ou dos velhos. Se o
regime novo exige a participação das mulheres nos trabalhos agrícolas, os
velhos recebem, de repente, a função importante de guardar a casa, preparar
as refeições e educar os filhos menores. Se não há velhos ou se estes também
vão à roça, às crianças de meia idade cabe a função de vigiar os irmãos meno-
res, de preparar as refeições e de executar todos os trabalhos domésticos que
na civilização urbana são executados por adultos. Quanto a esses detalhes, as
sociedades rurais apresentam inúmeras e profundas variações.
Um regime de trabalho mais intenso exige alimentação diferente e, so-
bretudo, maior número de refeições. Café, rapadura, feijão e farinha de
milho não representam a base adequada para o regime de trabalho que se
encontra, por exemplo, entre os teuto-brasileiros de Santa Catarina.
Os dias de descanso precisam ser reduzidos – o que pode interferir com
sentimentos religiosos ou ideias mágicas. Em certas partes do interior de
São Paulo é costume suspender o serviço ao meio-dia de sexta-feira. No
192 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 192 7/7/2009, 17:11
Emílio Willems
Vale de Paraitinga não se trabalha aos sábados. “O número de dias santos”,
observa Borges Schmidt, “guardados durante o ano é superior ao de qual-
quer outra região. Rara é a semana em que não aparece um deles de per-
meio, quando não mais de um. Assim, já reduzida a cinco dias, não é raro
serem apenas quatro os aproveitados utilmente. Santos cujos dias passari-
am desapercebidos em outros lugares são ali religiosamente venerados pela
inatividade, embora muitos sacerdotes, nas suas prédicas, nas cidades ou
nas festas da roça, façam sentir a não obrigatoriedade em guardá-los. São
Gabriel, São Miguel e Santa Catarina, para não falar em São Benedito e
São Roque, inclusive mais algumas dezenas deles, são todos padroeiros em
cujos dias o trabalho agrícola para, as atividades ficam suspensas e o pessoal
fica em casa sem fazer nada” (Schmidt, 1943).
Não pretendo dar aqui uma enumeração completa de todos os traços e
detalhes que na realidade integram o regime de trabalho de culturas comu-
mente chamadas “simples”. Creio que as amostras apresentadas são sufi-
cientes para dar ao leigo uma ideia geral da complexidade desnorteante do
problema cuja solução exige os esforços contínuos e inteligentemente diri-
gidos de várias gerações.
Dificuldade da transferência cultural
As diversas esferas de uma cultura estão sempre ligadas umas às outras.
Modificações feitas numa delas não deixam de repercutir sobre as demais.
As ligações existentes raramente são percebidas pelo observador sem treino
antropológico. E como os observadores são quase sempre especialistas inte-
ressados, por exemplo, em curar a maleita, em difundir o cultivo da
batatinha, em implantar hábitos profiláticos contra a ancilostomíase, em
estudar as possibilidades do crédito ou da organização de cooperativas, os
problemas básicos passam despercebidos. Todos esses especialistas – médi-
cos, agrônomos, professores, economistas etc. – interferem com a cultura
cabocla, tentando enxertar-lhe elementos cuja transferência a civilização
urbana julga desejável. Ao cumprirem seus deveres profissionais, esses espe-
cialistas não podem deixar de ignorar – porque aqui se trata de outra espe-
cialidade diferente das de todos eles – que:
1) o enxerto de um elemento cultural somente é possível em determinadas
condições de que se conhecem apenas os caracteres gerais, cujas varia-
ções locais e regionais, no entanto, exigem um estudo acurado;
junho 2009 193
Vol21n1-d.pmd 193 7/7/2009, 17:11
O problema rural brasileiro do ponto de vista antropológico, pp. 187-210
2) o enxerto, embora realizado ou realizável, pode não dar o resultado espe-
rado, porque nem sempre o significado que caracteriza um elemento
cultural o acompanha no processo de transplantação;
3) a função que um elemento cultural exerce numa determinada estrutura
social pode não ser a mesma se o elemento for transplantado para uma
estrutura diferente;
4) o enxerto de um elemento dificilmente pode ser “localizado”, pois uma
cultura não é comparável a uma massa de cera que recebe apenas as im-
pressões que o modelador deseja imprimir-lhe. Muitos elementos cultu-
rais são interdependentes: quem deseja alterar um, deveria conhecer-lhe
as conotações que o ligam a outros elementos;
5) a introdução de novos elementos em uma cultura coloca, em regra, os
indivíduos ante padrões de comportamento mutuamente exclusivos.
Nesta hipótese se fala de “desorganização cultural”. Se os padrões antigos
são desobedecidos por alguns, em oposição a outros, a desorganização
vem a ser também “social”.
A aceitação de um novo traço cultural dá-se geralmente por intermediá-
rios. São os inovadores, os indivíduos mais “audaciosos” ou “avançados” da
sociedade aceitante. Mas é falha a suposição de que o motivo de aceitação
coincida sempre com aquele que se espera que tenha determinado a atitude
dos inovadores: a expectativa de vantagens, por exemplo. Ao lado ou em lu-
gar deste podem existir outros; mera curiosidade, por exemplo, ou o desejo
da novidade ou de lançar mão do elemento novo para aumentar o prestígio
pessoal. Na última hipótese pode surgir a tendência de monopolizar o ele-
mento novo para mantê-lo inacessível, com a intenção de valorizá-lo. Tais
fatores podem dificultar ou impedir a difusão do elemento enxertado.
Se o motivo da aceitação foi outro que não a expectativa de uma vanta-
gem, a possibilidade do abandono existe. Dificilmente ocorre a integração
de um elemento novo que não tenha provado o seu valor com relação à
estrutura social ou configuração cultural.
Traços culturais se transferem com maior facilidade do que complexos
inteiros. A introdução de certas ferramentas ou adubos é relativamente menos
difícil do que a de uma lavoura inteira. Em qualquer hipótese, a aceitação
de um elemento novo depende da sua semelhança com elementos já exis-
tentes. A criação do bicho-da-seda, por exemplo, destoa de tal maneira da
cultura cabocla que à sua implantação se ligam dificuldades que um novo
cereal ou tubérculo não encontraria.
194 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 194 7/7/2009, 17:11
Emílio Willems
Traços concretos se transferem em regra mais facilmente do que traços
abstratos. O caboclo está mais disposto a adotar o cultivo de uma nova
planta ou a criação de um novo bicho do que um novo regime de trabalho.
Como, às vezes, o êxito de um enxerto depende da proporção em que ou-
tros elementos culturais podem ser substituídos, o reformador é colocado
diante de problemas extremamente complexos. Se a tática de introdução
não obedecer, em todos os pormenores, às sugestões que a própria análise
cultural levanta, haverá surpresas desagradáveis.
A possível mudança de função constitui outro aspecto importante do
problema. O exemplo mais conhecido do nosso meio é a alfabetização. Se,
na nossa civilização, a comunicação depende, em grande parte, do conheci-
mento da escrita, é óbvio que a escola incumbida da transmissão desse co-
nhecimento exerce uma função vital do nosso sistema sociocultural. Toda-
via, este não é o caso da cultura cabocla (como de inúmeras culturas rurais).
Nesse meio, a comunicação não depende, absolutamente, do conhecimen-
to da escrita. Portanto, se é que na cultura cabocla a alfabetização exerce
uma função, esta não pode ser a mesma que desempenha na sociedade
urbana. Se não se lhe associar função nenhuma, a escola não será frequenta-
da ou, terminado o ciclo escolar, os ex-alunos esquecer-se-ão, rápida e to-
talmente, de tudo quanto aprenderam. Não raro, porém, a alfabetização
recebe uma função muito diversa daquela que se julga desejável. Contatos
com a civilização urbana levam principalmente os indivíduos alfabetizados
a abandonarem o seu meio para “tentar a vida” nas cidades mais próximas.
A aquisição de conhecimentos administrados pela escola torna-se, por as-
sim dizer, uma “técnica” para se aproximar de um meio julgado superior.
Acresce que, pela saída de indivíduos providos de um equipamento educa-
cional que os habilita a competir num meio urbano, a atitude do grupo
rural in toto tende a modificar-se, apressando-lhe a desagregação ou, talvez,
o desaparecimento completo. Vê-se que a alfabetização exerce a função de
intensificar a mobilidade social, horizontal e vertical. Não há garantia nenhu-
ma de que uma educação escolar de cunho técnico, instituída com o obje-
tivo de prender o caboclo a seu meio, não exerça a mesma função. Voltarei
mais adiante a esse aspecto do problema.
Por onde quer que os civilizadores ocidentais tenham pisado, eles tenta-
ram impingir às culturas primitivas ou semiprimitivas a escola de alfabeti-
zação. Na melhor das intenções, missionários e professores leigos desorga-
nizaram as tribos africanas e oceânicas educando-lhes as gerações novas em
escolas europeias. Parece-me que mediante um estudo comparativo desse
junho 2009 195
Vol21n1-d.pmd 195 7/7/2009, 17:11
O problema rural brasileiro do ponto de vista antropológico, pp. 187-210
fenômeno se pode ganhar muito. É um erro supor que se trate de um pro-
blema tipicamente brasileiro. Quase todos os países latino-americanos têm
suas culturas caboclas. Na África e na Oceania encontram-se culturas pri-
mitivas ou semiprimitivas e os contatos que se estabelecem entre elas e os
civilizadores brancos podem ser comparados – mutatis mutandis – aos con-
tatos que ligam a civilização litorânea no Brasil às culturas sertanejas. Em
toda parte, erros graves foram cometidos e muitos se ligam à introdução da
escola de alfabetização.
Na África, por exemplo, o pendor para imitar o europeu decidiu o su-
cesso que as instituições educacionais tiveram no meio nativo. O branco
não costuma sujeitar-se ao trabalho manual e é imitado principalmente
neste ponto. A escola é considerada pelo negro como meio de livrar-se do
trabalho físico e de equiparar-se ao branco. Assim, a escola educa sistemati-
camente para a ociosidade. Edifícios escolares bem construídos e, às vezes,
suntuosamente instalados, internatos à europeia, o acúmulo de conheci-
mentos sem relação com o meio autóctone, a aprendizagem do inglês ou do
Kisuaheli, língua franca naqueles territórios, ensinamentos morais e religi-
osos, enfim, constituem uma série de fatores capazes de alienar o educando
de seu meio nativo. O rapaz ou a moça volta para sua aldeia cheio de arro-
gância, não obedece mais aos pais, despreza conselhos e ordens dos chefes
tribais, fala correntemente o inglês ou Kisuaheli, mas não quer, de modo
algum, trabalhar na roça. Querendo casar-se, não encontra companheiro
de seu nível cultural. Os matrimônios tornam-se mais infelizes e os divórci-
os mais frequentes. De outro lado não é possível empregar a maior parte
dos conhecimentos adquiridos. Desta maneira, tudo contribui para que o
africano aprenda a desprezar o mundo dos pais e dos antepassados. Seme-
lhantes são os desajustamentos sociais originados pela escola europeia nas
possessões francesas. Everett V. Stonequist (1937) observa que alguns anos
de instrução elementar francesa não constituem uma assimilação cultural:
o estudante vive simplesmente em duas sociedades divorciadas, a sociedade
real donde ele veio e à qual está intimamente ligado pela língua do país; e
uma sociedade artificial – uma existência temporária onde ele, por algum
tempo, entra em contato com a língua francesa. O nativo não assimila essa
língua e não abandona seus modos primitivos de pensar. Um sábio e viajan-
te francês formulou a teoria nas seguintes palavras:
Não envolve este ensino do francês, que pode ser apenas superficial, o risco da
formação de déclassés? Logo que conhece algumas palavras da nossa língua, o nati-
196 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 196 7/7/2009, 17:11
Emílio Willems
vo se julga um ente de raça superior e de uma classe que tem direito a todos os
direitos. Ele considera incompatível com sua dignidade voltar à lavoura. O que ele
deseja é uma posição como ajudante de escritório em qualquer ramo de comércio
ou, de preferência, na onipoderosa administração, mas tais posições são poucas e
abarrotadas e, muitas vezes, mal remuneradas. Então o desgraçado julga-se vítima
de uma grande injustiça e, pretendendo fazê-lo semifrancês, tornam-no antifrancês,
agente de descontentamento e rebeldia.
Todas essas dificuldades surgem em consequência da ideia fundamen-
talmente errônea de que uma instituição social transferida para um meio
culturalmente diferente possa exercer as mesmas funções que exerce no meio
originário.
As possibilidades de intervenção educativa nas culturas sertanejas
Do ponto de vista educacional, a solução do problema rural brasileiro
não apresenta dificuldades intransponíveis. Pode-se tomar como certo que a
perpetuação das culturas caboclas nada tem que ver com o fator racial. Nun-
ca é demais insistir sobre esse fato. A despeito de todas as resistências e cam-
panhas contra o racismo, algumas das suas inúmeras variações contamina-
ram de tal maneira as nossas formas de pensar que parece sumamente difícil
desvencilhar-se delas. A Antropologia física está cansada de repetir que cru-
zamentos raciais não conduzem a “degenerações” somáticas ou mentais. Se
os híbridos raciais têm organismos depauperados, a causa está nas condições
sociais em que esses indivíduos foram criados. Isso foi inúmeras vezes prova-
do, mas a despeito de tudo continua-se a estabelecer confusão entre fatores
sociais e biológicos. O caboclo não possui a cultura que tem por ser um pro-
duto de hibridação racial. Ele a possui simplesmente porque lhe foi transmi-
tida, há muitas gerações, pelos pais. Trata-se de um patrimônio cultural, não
biológico. A transmissão ocorreu, durante quatro séculos, sem alterações in-
cisivas, porque esse patrimônio provou ser um equipamento adaptativo ade-
quado para garantir a sobrevivência da população cabocla. A intervenção
organizada deve, portanto, concentrar-se sobre dois aspectos fundamentais:
1) A interrupção do processo multissecular de transmissão tradicional. Fei-
to o peneiramento dos elementos considerados desejáveis, a transmissão
deverá restringir-se a estes. Desta maneira o patrimônio tradicional será
substituído por outro, ajustado ao sistema econômico moderno.
junho 2009 197
Vol21n1-d.pmd 197 7/7/2009, 17:11
O problema rural brasileiro do ponto de vista antropológico, pp. 187-210
2) A articulação do novo patrimônio cultural com um meio ao qual se
possa ajuntar. Todo sistema cultural representa um equipamento
adaptativo, tendo sua razão de ser somente em função do meio em que o
grupo respectivo deseja sobreviver.
ad 1) O plano do internato agrícola, em vias de realização em São Paulo,
parece ser a única solução possível. O afastamento do educando de seu
meio originário garante a interrupção necessária do processo de trans-
missão tradicional. A internação num instituto adrede preparado para
implantar novos hábitos e conhecimentos oferece as condições em que
possa acumular-se um patrimônio cultural parcialmente diverso. Toda-
via, convém não se esquecer de que a internação dos rapazes não é sufi-
ciente para realizar o objetivo mencionado. Pois o novo tipo de homo
rusticus que sairá dos internatos agrícolas desposará moças educadas na
rotina tradicional. Na família rural, as funções da mulher são, como é
sabido, comparativamente muito mais importantes do que na família
urbana. A atuação da mulher é não somente um fator decisivo para a
manutenção e a aquisição, pela família, de um determinado status eco-
nômico, mas também um fator de transmissão cultural de importância
fundamental devido, em parte, às funções inexistentes ou restritas da
escola. Se o homem for iniciado em uma cultura que o diferencia, pelos
conhecimentos técnicos, hábitos de trabalho, de higiene etc., fundamen-
talmente da cultura adquirida pela mulher, a probabilidade de choques
culturais será muito grande. A possível desorganização da família porá
em perigo o êxito todo da obra educacional planejada. Na melhor das
hipóteses, a recidiva dos filhos na rotina anterior será quase inevitável.
ad 2) Que acontecerá com o educando formado por um internato agrícola?
Voltará para o meio de onde veio? Em caso afirmativo, ele dificilmente
transformará esse meio, pois o patrimônio cultural adquirido no inter-
nato não representa, com relação a esse meio, um equipamento adaptativo
adequado. É mais provável que o meio o transforme ou obrigue ao êxodo.
Neste sentido, as experiências com imigrantes estrangeiros são valiosas.
É um erro muito comum pensar que o imigrante tenha desenvolvido,
em quaisquer condições, o meio em que foi colocado. Basta olhar para
os coeficientes de fixação das diversas etnias, basta um estudo ligeiro das
inúmeras colonizações fracassadas, dos muitos casos de desnivelamento
econômico para compreender que as transformações do meio, em um
sentido determinado, somente ocorrem em função de circunstâncias so-
bre as quais o imigrante nem sempre pode adquirir o controle.
198 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 198 7/7/2009, 17:11
Emílio Willems
Um observador que, em 1900, visitou Blumenau notou que muitos
colonos deixaram de usar o arado porque o seu emprego facilitava a erosão
das terras acidentadas. Para compensar os efeitos esterilizantes da erosão,
isto é, para conservar a produtividade de suas terras, necessário se tornava a
adubação em larga escala. “Mas os preços dos produtos não compensavam
técnicas, como essa, altamente intensivas.” Assim o uso do arado ficava
restrito às terras aluvianas dos vales. O regresso a processos velhos e rudi-
mentares afigurava-se, deste modo, como necessidade ditada pelas condi-
ções do meio, independentemente da vontade e do equipamento técnico
do imigrante. O rápido esgotamento das terras, associado a técnicas exten-
sivas e a uma pressão demográfica relativa, leva necessariamente ao
seminomadismo e desapego à gleba, traço cultural esse que contrasta com a
sedentariedade absoluta dos camponeses europeus. O seminomadismo é
um fenômeno tão corriqueiro entre descendentes de colonos alemães, itali-
anos e poloneses, que até observadores superficiais o notaram em todas as
zonas de colonização estrangeira. Wagemann já analisou, em 1913, os efei-
tos desagregadores do nomadismo dos colonos teuto-brasileiros do Espíri-
to Santo. Evidentemente, o nomadismo agrícola dos colonos significa o
domínio da rotina: os mesmos processos repetem-se através das gerações,
os filhos começam no mesmo ponto em que os pais e avós começaram, sem
a menor possibilidade de aumentar o acervo cultural. Exatamente como
entre caipiras legítimos (cf. Willems, 1941, pp. 802-803).
À guisa de certos imigrantes, o homem a ser formado pelos internatos
agrícolas representará uma cultura “superior”. O seu aproveitamento, no
sentido do nosso sistema econômico, sugere cuidados especiais. Assim,
como se lhe escolhe o meio educativo, deve-se-lhe escolher o meio propício
em que possa utilizar a cultura adquirida às expensas do erário público.
Quanto a esse meio, será preciso levar em conta, por exemplo, a qualidade e
a quantidade dos consumidores, as distâncias, as vias de comunicação, as
possibilidades de fundar cooperativas e, antes de mais nada, o crédito desti-
nado à aquisição de terras apropriadas, da casa, de ferramentas, máquinas,
animais, adubos e sementes. A fixação dos novos elementos em núcleos ho-
mogêneos afigura-se talvez como sendo o processo mais rápido e seguro, ten-
do-se em vista o objetivo final visado por uma mudança cultural provocada.
De qualquer forma, o aproveitamento dos indivíduos saídos de interna-
tos agrícolas exige um reconhecimento exato das condições socioculturais
das regiões escolhidas para a colonização. É óbvio que o meio atua sobre
esses colonizadores com seu equipamento “superior”, mas é preciso não
junho 2009 199
Vol21n1-d.pmd 199 7/7/2009, 17:11
O problema rural brasileiro do ponto de vista antropológico, pp. 187-210
esquecer-se de que, em outras circunstâncias, eles podem exercer influên-
cias sobre o meio. Como reagem, por exemplo, os povoadores antigos a esse
novo tipo de colono? Observadores superficiais pensam talvez que lhes imi-
tem o exemplo. Ora, a experiência ensina que isso acontece raras vezes. A
norma é que os antigos povoadores continuem com seus métodos rotinei-
ros. Todavia, estes métodos que antes lhes garantiram a subsistência po-
dem, a partir de certo momento, tornar-se inadequados. Esse fato não sig-
nifica outra coisa senão a miséria ou o êxodo. Não depende da vontade dos
colonizadores novos evitar ou não essas consequências. É simplesmente um
efeito da competição, sobretudo da competição econômica. Sem dúvida, o
processo ecológico de desalojamento dos antigos habitantes afeta não so-
mente a região que está sendo “reerguida” por colonizadores “superiores”,
mas grande parte das zonas circunvizinhas onde os imigrantes podem cons-
tituir problemas inesperados e, talvez, graves.
Mudança ou perda de função da escola de alfabetização
nas culturas mais simples
Na América ibérica, as tentativas de incorporar a escola de alfabetização
nas culturas regionais pré-letradas surtiram efeitos semelhantes aos que apon-
tei no capítulo precedente. No planalto de Guatemala, cuja sociedade foi
estudada por Robert Redfield, a escola pública goza de considerável prestí-
gio, mas apenas como instrumento para arranjar emprego remunerado na
cidade mais próxima. Nas próprias aldeias, a arte de ler e escrever não tem
função a não ser em determinadas cerimônias religiosas e nos poucos con-
tatos com as autoridades estatais. Mas para tanto é suficiente que alguns
indivíduos tenham sido alfabetizados. A prática de ler e escrever poderia,
portanto, constituir nas aldeias do planalto da Guatemala uma especializa-
ção profissional ao lado de outras.
Também entre as populações índias da América do Norte fundaram-se,
com êxito variável, escolas públicas. Sobre os Arapaho setentrionais, locali-
zados no estado de Wyoming, o antropólogo Henry Elkin observa o se-
guinte: “A escola dificilmente consegue ampliar-lhes os interesses. A maior
parte do que lhes é ensinado não combina com a sua experiência social e
escapa à sua compreensão desde o começo, ou é decorado e logo esquecido.
No fim chegam a aprender pouco mais do que a ler, escrever e falar o inglês
mais simples que depois usam somente em contatos diretos com brancos.
Quando deixam a escola, também deixam de ler. A única matéria escrita
200 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 200 7/7/2009, 17:11
Emílio Willems
que aparece no território são algumas revistas ilustradas, folhetos cômicos,
catálogos e tratados religiosos difundidos pelos missionários. Quando vão à
cidade, nunca entram na biblioteca pública” (Elkin, 1940, p. 249).
Fatos semelhantes nos apresenta o México que, há muito, tenta assimilar
suas populações indígenas. Mesmo na época pré-colombiana, esses índios
não foram primitivos propriamente ditos. E grande parte da cultura pré-
colombiana continua intacta. Contra ela, que é conservada pelas comunida-
des e famílias, a escola pública pouco consegue. Existe, por exemplo, um
interessante estudo sobre os índios Tarasco, realizado e publicado pelo Insti-
tuto de Investigações Sociais da Universidade do México. É inútil dizer que
a escola é um corpo estranho na cultura tarasca. Aprende-se que a “família e a
comunidade destroem a ação da escola sobre aquelas crianças indígenas que
a frequentam, porque a escola corresponde a uma cultura diversa, à cultura
moderna, e entre a escola, a família e a comunidade não há essa espécie de
continuidade, não existe o laço que une família, comunidade e escola em
sociedades da mesma cultura. A escola oficial, na região dos Tarasco, ensina
com palavras a cultura moderna às crianças indígenas, mas estas, ao volta-
rem a seus lares, esquecem-se das palavras ante a pressão convincente dos
fatos, ante o exemplo daqueles que lhes merecem respeito e carinho”
(Mendieta e Nuñez, 1940, p. 68).
“Em sociedades de cultura homogênea”, continua o mesmo autor, “fa-
mília e comunidade preparam e continuam a ação da escola; nas sociedades
indígenas como a dos Tarasco, que vive em sua superposição cultural, há
uma oposição, uma luta, não declarada de certo, mas efetiva e superior aos
próprios desejos dos pais de família, entre esta e a escola” (Idem, p. 69).
Mas, objetar-se-á, a alfabetização pode implantar a necessidade e o hábi-
to da leitura. Ouvi muitas vezes esse argumento que aliás já está refutado
pelos fatos mencionados. Em todo caso convém acrescentar que o desenvol-
vimento técnico e econômico, por exemplo, pode criar a necessidade de
aprender a escrita, e as escolas, que porventura se abram, têm imediatamen-
te uma função importante a desempenhar nas sociedades locais. É o caso de
não poucas zonas pioneiras no interior brasileiro. Mas nunca a escola pode,
por si só, criar o hábito da leitura, se as demais experiências culturais não
oferecem estímulos e pontos de referência. O conhecimento da escrita tem
um valor apenas “instrumental” com relação ao resto da cultura. A prova
mais convincente do que acabo de afirmar está, a meu ver, no fato de que as
populações alfabetizadas em que se formara o hábito da leitura o perdem
quando transplantadas para um meio culturalmente diverso. É o caso dos
junho 2009 201
Vol21n1-d.pmd 201 7/7/2009, 17:11
O problema rural brasileiro do ponto de vista antropológico, pp. 187-210
descendentes de imigrantes alemães no Espírito Santo, dos quais 25%, em
1913, eram analfabetos e muito mais do que a metade não costumava ler
coisa alguma. Um viajante que percorreu, no fim do século XIX, o estado de
Santa Catarina observou que “muito mal estão Teresiópolis e Braço do Nor-
te onde há apenas uma escola, assinando as 600 a 700 famílias (teuto-brasi-
leiras) apenas três jornais” (apud Willems, 1940, p. 29). Observações feitas,
há poucos anos, sobre os descendentes de alemães na zona do alto Uruguai
chegaram a resultados semelhantes: “Infelizmente, a maioria daqueles que
estão confiados aos nossos cuidados consiste em analfabetos e, quando, às
vezes, sabem ler um pouco, não compreendem o sentido. Por isso, mostra-
mos-lhes revistas ilustradas e explicamos-lhas. Aqui, as crianças vão três
anos à escola e muitas não a frequentam” (Idem).
Esses fatos provam que o hábito da leitura depende de necessidades cria-
das pela cultura e não pela escola. E em todas as culturas parecem estar em
primeiro plano necessidades técnicas e econômicas a sugerirem a adoção de
novos elementos, entre os quais pode figurar também a arte de ler e escrever.
Demorei-me no exemplo da escola de alfabetização porque as tentativas
de incorporá-la a sociedades simples repetiram-se tantas vezes, e com tanta
obstinação os civilizadores urbanos insistem nessa experiência, que ela veio
a constituir um dos problemas básicos do contato entre a civilização de
cunho ocidental e as pequenas culturas isoladas, semiprimitivas, de feição
campesina.
Dos fatos aqui expostos pode se depreender que a escola de alfabetiza-
ção representa, nessas culturas, um corpo estranho, uma inutilidade, ou
então ela sofre uma mudança de função, chegando a exercer influências às
vezes diametralmente opostas àquelas que o civilizador urbano teve em mente
quando a transplantou para o meio das comunidades sertanejas. Natural-
mente, na realidade nem sempre é fácil decidir se o desenvolvimento de
uma cultura local ou regional comporta a escola, quer dizer, se ela pode ou
não ser transferida sem que ocorra mudança ou perda de função. Em outras
palavras: não é possível fazer uma política educacional sem conhecimentos
pormenorizados do meio cultural que se deseja presentear com essa insti-
tuição que simboliza, por assim dizer, a crença do homem ocidental na
fatalidade do progresso.
Infelizmente, os conhecimentos que se tem das nossas culturas sertane-
jas são mais do que escassos. Além de umas frases surradas sobre o contato
entre a civilização do litoral e do sertão, sobre a rarefação das populações
sertanejas, sobre cangaceiros, gaúchos, Canudos, o Juazeiro do Padre Cícero
202 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 202 7/7/2009, 17:11
Emílio Willems
e mais uma dúzia de imagens literárias, gastas pelo consumo diário, pou-
quíssima coisa se sabe sobre a natureza das nossas culturas caboclas. Apenas
se vislumbrou o abismo que as separa da civilização urbana e até hoje pou-
cas foram as tentativas de subordinar a política educacional a um estudo
prévio baseado nos métodos que a moderna análise cultural aconselha.
Plano de ação científica
No último capítulo viu-se que não é possível separar o problema educa-
cional dos demais problemas oriundos de diferenças, tensões e choques
entre as culturas caboclas e a civilização urbana. Não é possível tampouco
reduzir esses problemas a uma questão meramente educacional. Se o tipo
de internato agrícola, em vias de realização, representa, em linhas gerais,
uma solução, esta não pode ser senão parcial. Pois em primeiro lugar o
número de indivíduos saídos de tais internatos jamais poderá atingir as
cifras indispensáveis para substituir um sistema cultural inteiro. De mais a
mais, os indivíduos formados por tais escolas são produtos de estufa com-
paráveis a certos lavradores estrangeiros vindos de sistemas agrícolas alta-
mente desenvolvidos. É preciso descobrir-lhes um meio adequado para que
não se tornem vítimas de um meio inadequado. Na verdade, porém, os
meios adequados estão geralmente ocupados e trabalhados, mediante mé-
todos razoavelmente eficientes. A função que usualmente se atribui aos co-
lonizadores-modelo é a conquista de áreas inexploradas ou o reerguimento
de zonas “decaídas”. Portanto, tarefas sobremaneira difíceis quando se tem
em vista o equipamento “superior” desses colonizadores. Naturalmente, nin-
guém deseja que eles, dentro de duas ou três gerações, fiquem reduzidos ao
estado cultural para cuja elevação foram chamados. Quer-se evitar, natural-
mente, o acaboclamento cultural desse novo tipo de povoador-modelo. Mas
isso será possível somente se à ação educacional se associarem outras formas
de intervenção organizada. Em que elas devem consistir, somente um estu-
do acurado poderia revelar.
A espécie de investigação que aqui se sugere nada tem de novo ou ex-
traordinário em outras partes do mundo. Nos Estados Unidos, por exem-
plo, especialistas em Sociologia Rural cooperam, intimamente, com os de-
partamentos técnicos e administrativos dos governos federal e estaduais,
para a solução de certos problemas rurais. Não é novidade que também os
serviços técnico-administrativos, atinentes às populações indígenas, estão
sendo largamente controlados por antropólogos de carreira. Também a In-
junho 2009 203
Vol21n1-d.pmd 203 7/7/2009, 17:11
O problema rural brasileiro do ponto de vista antropológico, pp. 187-210
glaterra e a Holanda administram suas colônias com o auxílio de antropó-
logos de carreira.
No Brasil, o mesmo trabalho exige a cooperação de, pelo menos, duas
ciências sociais: a Antropologia e a Sociologia, às quais podem ser associa-
das à Ecologia, à Demográfica e à Psicologia Social. A Sociologia tem de
abranger problemas urbanos e rurais, mas sem o concurso da Antropologia
cultural ela não poderá fornecer resultados satisfatórios porque ao sociólo-
go falta geralmente o conhecimento das culturas primitivas. Primitivas são
antes de tudo as culturas indígenas, mas primitivos ou semiprimitivos são
1. Mesmo as culturas também os diversos tipos de cultura cabocla1 tanto no Brasil como na maioria
campesinas da Europa dos países ibero-americanos.
e da Ásia apresentam O trabalho a ser feito abrange, necessariamente, uma parte monográfica
tanta semelhança com
e outra comparativa. A monográfica é fundamental e tem que ser realizada
culturas primitivas que
o seu estudo somente de maneira a um tempo extensiva e intensiva. A pesquisa extensiva deverá
pode ser feito, de modo abranger o maior número possível de culturas regionais. Intensiva ela é no
adequado, se o pesqui- sentido de exigir, em cada caso, um trabalho aprofundado e minucioso,
sador possui um alto com permanências demoradas “em campo”. A parte comparativa não se
grau de treinamento
deverá restringir ao confronto dos resultados obtidos nas diversas regiões
antropológico.
brasileiras. Deverá ser mais ampla, comparando-se os resultados obtidos no
Brasil com as investigações feitas em outros países do nosso e de outros
continentes.
Todavia, o programa assim delineado não está completo. Não se esque-
çam os problemas que a introdução do africano e a imigração de europeus
e asiáticos trouxeram. A aculturação desses elementos humanos constitui
outro objetivo de estudo, sobretudo de antropólogos e sociólogos. A sua
solução científica deverá obedecer a um plano semelhante ao que acima
deixei traçado. Também os estudos aculturativos terão de começar por
monografias regionais ou locais cujo número há de corresponder exata-
mente às áreas habitadas por imigrantes ou seus descendentes. Quanto ao
negro, essa parte deparará com dificuldades mais sérias. Contudo, também
nesse caso parece possível delimitar áreas distintas, ainda que talvez con-
vencionais, cujo estudo deverá ser feito monograficamente. Uma excelente
amostra dessa categoria de pesquisa representa o livro de Donald Pierson
sobre o negro na Bahia.
Seguirá o trabalho comparativo, exatamente nas bases expostas: o con-
fronto dos estudos regionais, confeccionados no Brasil e alhures, propor-
cionará uma visão geral do problema. Creio não haver muita necessidade
de insistir sobre a importância da parte comparativa. A pesquisa monográfica
204 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 204 7/7/2009, 17:11
Emílio Willems
pode ser concebida somente em função do estudo comparativo, pois é este
que dará a possibilidade de formular leis. Estou com Herskovits quanto à
necessidade de reconstruir, nas monografias, o background histórico dos
problemas locais. Nunca compreendi o ponto de vista dos antropólogos, os
quais, com profundo desprezo pela história, se restringem ao instantâneo
dos grupos humanos que se propõem a estudar.
De outro lado será preciso repetir, de tempos em tempos, a investigação
local afim de obter, pela sequência dos instantâneos, uma visão cinética da
vida das comunidades estudadas. Esta parte é o complemento indispensá-
vel para que se possa chegar a conclusões válidas.
Não há dúvida de que atualmente não se está equipado para a realização
de semelhante trabalho. Penso, no entanto, que não se deve deixar para o
futuro o que pode ser feito agora. Não importa que seja pouco. Já surgiram
alguns trabalhos científicos de valor e o seu número está aumentando pou-
co a pouco, malgrado os desfavores da época que nos atribula.
Creio que não pode haver dúvidas sobre a relação dessas investigações
com o trabalho de especialistas de outros ramos da ciência. A solução do
problema rural brasileiro exige a contribuição de médicos, agrônomos,
geógrafos, economistas e educadores. Mas da cooperação desses especialis-
tas ainda não pode surgir uma solução satisfatória. Antes surgirá uma série
de círculos viciosos. Os cientistas mencionados não podem deixar de ver o
caboclo sob o ponto de vista da sua especialidade.
Para os médicos o caboclo é um doente e um subalimentado; para o
educador todo “mal” reside no analfabetismo; o agrônomo verifica a ine-
xistência de conhecimentos “racionais” de agricultura; os economistas dão
pela falta de crédito, de mercados e meios de comunicação; os moralistas
desejam erradicar certos “vícios” e assim por diante. A maioria dos médi-
cos parece estar convencida de que não é possível implantar outros hábi-
tos educativos e um regime de trabalho mais produtivo enquanto perma-
necem certas moléstias a solapar o organismo do caipira. De não poucos
educadores ouve-se a afirmação de que um iletrado não pode adquirir co-
nhecimentos de dietética e profilaxia. E de que maneira o caipira pode
obter alimentos adequados se não planta nem cria o que é necessário para
fortalecer-lhe o organismo “depauperado”?, indaga o agrônomo. A cons-
trução de habitações mais higiênicas, a aquisição de material escolar, de
roupa apropriada e de remédios, a remuneração do médico ou o pagamen-
to de contribuições para caixas de assistência são fatores que, no entender
dos economistas, dependeriam da concessão de créditos agrícolas e da
junho 2009 205
Vol21n1-d.pmd 205 7/7/2009, 17:11
O problema rural brasileiro do ponto de vista antropológico, pp. 187-210
abertura de novos mercados ao alcance do pequeno produtor em que de-
sejam transformar o caipira.
Todos esses detalhes são apenas partes de um sistema de natureza socio-
cultural. Penso que nos capítulos anteriores dei provas suficientes de que
sociedades e culturas como sistemas somente podem ser estudadas adequa-
damente pela Antropologia e Sociologia com suas disciplinas conexas. A
função dessas duas ciências com relação às demais é clara: cabe-lhes o traba-
lho geral e preliminar que precede a intervenção. As demais ciências têm
funções especiais e seu trabalho identifica-se com a própria intervenção.
A origem da cultura cabocla
A situação das populações caboclas do Brasil e de outros países latino-
americanos não pode ser compreendida sem prévio exame de certos acon-
tecimentos que a Historiografia geralmente não analisa, os quais, no entan-
to, influíram, decisivamente, sobre o destino das diversas nações deste
continente. Aprende-se apenas que os conquistadores portugueses e espa-
nhóis encontraram populações indígenas. Subjugados por meios violentos
ou pacíficos, os índios cruzaram-se, em grande parte, com os invasores eu-
ropeus, constituindo, aos poucos, uma vasta população de mestiços.
Este modo de encarar os fatos pouco ou nada explica. Naturalmente é
preciso distinguir o cruzamento racial de um outro processo muito mais
importante: o da fusão de culturas diversas.
As populações autóctones estavam divididas em muitas sociedades tribais,
cada qual com sua cultura definida. À medida que entraram em contato
com os conquistadores, essas culturas se desintegraram. A desintegração de
culturas tribais é um fenômeno que atualmente pode ser observado em
muitos pontos do sertão brasileiro e de outras partes do continente ameri-
cano. Daí a possibilidade de ajuizar-se do que ocorreu nos três primeiros
séculos de colonização. A consequência mais grave da desintegração reside
no fato de que os índios deixam, aos poucos, de viver em tribos. A desagre-
gação das tribos vai eliminando, do horizonte cultural do índio, todos os
elementos condicionados ao convívio e à cooperação íntima de algumas
centenas de indivíduos, à divisão tradicional de trabalho entre os sexos, à
autoridade de certas personalidades e aos estímulos que lhes vêm de deter-
minadas instituições mágicas ou religiosas. Perde-se também – e este deta-
lhe desejo frisar neste rápido estudo – a organização econômica da tribo. A
economia indígena da América do Sul (exceção feita às altas culturas andinas)
206 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 206 7/7/2009, 17:11
Emílio Willems
não se baseia na troca. Esta, se ocorre, é acessória e nada tem que ver com o
sistema econômico em si. Este pode ser caracterizado como regime de au-
tossuficiência: a própria tribo produz de acordo com suas necessidades e
consome o produto de seu trabalho.
Todavia, muitos índios entraram em contato com os conquistadores
brancos. Perdendo a sua cultura tribal é provável que tenham adquirido
elementos da cultura ocidental. Veja-se o que o colono português podia
oferecer ao índio.
Em primeiro lugar é preciso frisar que, nos séculos XVI, XVII e XVIII,
a organização econômica da maior parte dos países europeus se achava ain-
da na fase pré-capitalista. Parece mais fácil compreender a importância des-
se fato lembrando, mais uma vez, em que consiste a economia capitalista.
Os característicos gerais da economia ocidental ou capitalista são três: ne-
cessidades ilimitadas, sistema monetário e individualismo. Por conseguin-
te, numa economia pré-capitalista as necessidades são limitadas pela tradi-
ção, dinheiro não há ou não é essencial para a realização das atividades
econômicas fundamentais e, enfim, o indivíduo está moralmente preso, no
exercício das suas atividades econômicas, à organização clânica, familiar ou
aldeã, de que é uma parte integrante. Todos esses característicos aplicam-se
não só ao campônio português, mas a quase todas as sociedades campesinas
da Europa. As comunidades aldeãs eram, em geral, organizações autossufi-
cientes e as semelhanças com tribos primitivas muito maiores do que pode
parecer à primeira vista.
Acresce que as técnicas agrícolas, até o fim do século XVIII, surpreen-
dem pelo seu acentuado primitivismo. Até o fim do século XVIII e, em
muitos países, até o século XIX, predominava a rotina milenar, o sistema de
três parcelas. Esse regime baseia-se na cultura alternada sobretudo de ce-
reais, de maneira que cada ano outra parcela é deixada de pousio. Avizi-
nhando-se o momento em que a produção destarte obtida já não compensa
o esforço dispensado, passa-se a aplicar o mesmo sistema a outro complexo
de terras que antes servia de pasto. Com a redução das pastagens e a ocupa-
ção total das terras disponíveis, o sistema de três parcelas torna-se estacio-
nário. Afim de evitar o esgotamento, o lavrador tem de empregar processos
de adubação. Durante mais de mil anos, a maioria dos lavradores europeus
seguiu esse regime.
Quanto à maquinária agrícola, convém lembrar que os implementos
usados até a segunda metade do século XVIII pouco diferiam das máquinas
relativamente mais eficientes do tempo do império romano. Não há dúvida
junho 2009 207
Vol21n1-d.pmd 207 7/7/2009, 17:11
O problema rural brasileiro do ponto de vista antropológico, pp. 187-210
de que o arado romano era melhor do que a maioria dos tipos que na
Europa se usavam até o ano de 1750, mais ou menos.
Afirmou-se tantas vezes que o caboclo aprendeu as suas técnicas agríco-
las do índio. Sem querer negar isso, quero lembrar apenas que a própria
cultura trazida pelos imigrantes portugueses e outros já continha a expe-
riência do alqueive que aqui passou a ser chamado capoeira. Também a
exploração extensiva e “destruidora” de todas as terras disponíveis fazia par-
te do lastro cultural do campônio europeu. Praticamente, toda a agricultu-
ra chamada moderna é fruto do século XIX.
A conclusão que se pode tirar desses fatos históricos é a de que os pontos
de contato entre a economia indígena e a economia campesina da época
colonial eram numerosos e facilitaram, sem dúvida alguma, a hibridação
das duas culturas.
A cultura adventícia teve o destino das culturas indígenas. Também ela
se desintegrou. O produto híbrido, a cultura cabocla, com suas variações
locais e regionais, não alcançou, em parte alguma, o grau de integração
social que caracterizava as culturas originárias. Não se salvou nem a aldeia
indígena, nem a comunidade campesina da Europa. A colonização dispersa
com sítios isolados por grandes distâncias foi substituindo o povoamento
cumulativo de índios e europeus.
Com efeito, essa substituição outra coisa não significa senão a perda de
inúmeros elementos culturais cuja existência e perpetuação se prendiam à
agregação íntima, a um sistema de cooperação e divisão de trabalho susce-
tível de sobreviver somente quando os homens podem agir, incessantemen-
te, em conjunto e sob o controle direto da comunidade. Acresce que as
culturas indígenas e campesinas se baseiam na tradição oral da comunida-
de. Escasseando os contatos, a tradição oral não pode deixar empobrecer.
É o que aconteceu com as chamadas culturas caboclas. De certo, nin-
guém ficará surpreso com a observação de que as culturas campesinas da
Europa apresentam um conteúdo mais rico e variado do que as culturas
sertanejas do Brasil. Para muita gente, no entanto, constitui motivo de es-
panto o fato de que também a maioria das culturas tribais do Brasil central
e setentrional esteja em condições relativamente mais favoráveis do que a
de seus vizinhos caboclos. O alto grau de integração da vida tribal, a estreita
cooperação dos homens, o desempenho de importantes funções econômi-
cas pelas mulheres fazem com que essas tribos tenham desenvolvido uma
organização econômica mais eficiente do que os caboclos das regiões cir-
cunvizinhas. Os Tapirapé, por exemplo, estudados por Herbert Baldus e
208 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 208 7/7/2009, 17:11
Emílio Willems
Charles Wagley, possuem uma agricultura mais variada e rendosa do que
geralmente se encontra no sertão de Goiás ou Mato Grosso. Onde o cabo-
clo, por exemplo, planta a banana “que der”, esses índios distinguem e cul-
tivam perto de meia dúzia de variedades. O mesmo se dá com o milho e o
feijão. O abastecimento da tribo é rico a ponto de se poder falar em fartura
durante a maior parte do ano.
A organização econômica do caboclo típico é pré-capitalista. As necessi-
dades são limitadíssimas e o dinheiro como meio de troca desempenha um
papel de somenos importância. À guisa das economias tribais e aldeãs da
Europa do tempo colonial, o regime é de autossuficiência. Quanto ao “in-
dividualismo” do sertanejo, tenho as minhas dúvidas. Parece-me que se
confunde, frequentemente, dispersão demográfica, nomadismo e “desobe-
diência” às instituições estatais com individualismo. A grande incógnita é a
organização da família cabocla. Conhece-se muito melhor o sistema de pa-
rentesco de inúmeras tribos indígenas do que o regime familial em que vive
o caboclo. Em qualquer hipótese: antes de se fazerem investigações minu-
ciosas a respeito, julgo prematura e sem base qualquer afirmação sobre o
“individualismo” do sertanejo.
Os grandes acontecimentos históricos de ordem econômica passaram
sem deixar vestígios nas culturas sertanejas do Brasil. A cana-de-açúcar, o
café, o algodão, seus altos e baixos, a riqueza e pobreza que se espalharam so-
bre algumas pequenas manchas do território nacional nada têm que ver, no
fundo, com o “problema” do caboclo. Nem tampouco o desenvolvimento
das cidades e indústrias, as oscilações dos preços, o papel dos intermediários,
o açambarcamento e o cooperativismo. Estes, todos, são problemas que,
com variações mais ou menos pronunciadas, assolaram os países europeus
no século passado quando se iniciou a penetração lenta do regime capitalista.
Há no Brasil como alhures circunstâncias que dificultam extraordinaria-
mente o discernimento dos problemas rurais. É que nas manchas territoriais
conquistadas pela economia capitalista se desenvolveram tipos de culturas
intermediárias. É hábito chamar aos povoadores dessas áreas de “caboclos”.
Realmente, eles conservam muitos característicos da sua origem cabocla,
mas é quase inútil dizer que as minhas observações não lhes dizem respeito,
pois a sua organização econômica, sobretudo o seu padrão de vida, já se
articulou em grande parte com o sistema capitalista das cidades e suas áreas
economicamente dependentes.
junho 2009 209
Vol21n1-d.pmd 209 7/7/2009, 17:11
O problema rural brasileiro do ponto de vista antropológico, pp. 187-210
Referências Bibliográficas
ELKIN, Henry. (1940), “The Northern Arapaho of Wyoming”. In: LINTON, Ralph,
Acculturation in Seven American Tribes. Nova York.
MENDIETA Y NUÑEZ, Lucio. (1940), “Ensayo sociológico sobre los Tarascos”. In: Los
Tarascos, México.
SCHMIDT, Carlos Borges. (1943), “Aspectos da vida agrícola no Vale do Paraitinga”.
Sociologia, V (1): 35-55.
STONEQUIST, E. V. (1937), The Marginal Man. Nova York.
WILLEMS, Emílio. (1940), Assimilação e populações marginais no Brasil. São Paulo.
_____. (1941), “O desnivelamento econômico como fator de aculturação”. Revista
de Imigração e Colonização, ano II (2 e 3), abr.-jun.
Resumo
O problema rural brasileiro do ponto de vista antropológico
O texto de Emílio Willems, publicado originalmente em 1944, defende a tese da hete-
rogeneidade cultural brasileira e avalia as possibilidades de intervenção nas “culturas
caboclas”. O ponto específico em questão é o plano do internato agrícola que estava
sendo implementado no estado de São Paulo pelo governador Fernando Costa. O
antropólogo alemão avalia com reservas essa proposta e apresenta um programa de
pesquisas sobre as comunidades rurais no Brasil.
Palavras-chave: Culturas sertanejas; Caboclo; Caipira; Estudos de comunidades.
Abstract
Brazil’s rural problem seen from an anthropological viewpoint
Emílio Willems’s text, originally published in 1944, argues for the heterogeneity of
Brazilian culture and evaluates the possibilities for intervening in ‘caboclo cultures.’
The specific issue is the plan for the agricultural school being implemented at the time
in the state of São Paulo by governor Fernando Costa. The German anthropologist
assesses this proposal, making a number of reservations, and presents a research pro-
gram for studying rural communities in Brazil.
Emílio Willems foi Keywords: Sertão cultures; Caboclo; Caipira (Peasant); Studies of communities.
professor de Antropo-
logia na Faculdade de
Filosofia, Ciências e
Letras da Universida-
de de São Paulo e na
Escola Livre de Socio-
logia e Política.
210 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 210 7/7/2009, 17:11
Resenhas nova/Ibéria, Holanda, Grã-Bretanha e Estados Uni-
dos –, Arrighi depara-se com o crescimento assom-
broso do Japão no pós-guerra. Em princípio finan-
ciados pela pujança norte-americana, nos anos de
1980 os japoneses haviam invertido essa situação, de-
sembolsando “um imenso volume de capital para res-
paldar os déficits das contas externas e o desequilí-
brio fiscal interno dos Estados Unidos”1.
O conceito schumpeteriano de intercâmbio polí-
tico, reformulado por Arrighi, prevê que o ente hege-
mônico do capitalismo histórico se articula na relação
entre dois atores: o que detém capital e aquele que
possui força político-militar. No contexto da crise nos
Estados Unidos e do crescimento econômico no Les-
te asiático, o epílogo de O longo século XX sugeria que
um novo pacto entre a potência econômica ascenden-
te, o Japão, e a águia guerreira norte-americana pode-
ria formular novas bases para a acumulação capitalista
Giovanni Arrighi, Adam Smith em Pequim: origens no final do milênio.
e fundamentos do século XXI. São Paulo, A hipótese de uma combinação bilateral entre eco-
Boitempo, 2008, 432 pp. nomia e política – que lembraria a relação entre Gê-
nova (capital) e Espanha e Portugal (força político-
Wagner de Melo Romão militar) no século XVI – cai por terra com a ascensão
Doutorando em Sociologia pela FFLCH – USP da China. Nos anos de 2000, a China – que já era
considerada líder regional por sua população, exten-
A partir de meados dos anos de 1970, tem início são territorial e relativa posição de força no Extremo
o declínio dos Estados Unidos como líder inconteste Oriente – extrai de seu galopante desenvolvimento
do sistema internacional. Desde aqueles anos, pes- econômico a posição de séria candidata a hegemon.
quisadores têm buscado identificar indícios de qual Tem como rival os Estados Unidos, enfraquecidos
país ou grupo de países poderá substituir os Estados pelo atoleiro iraquiano, à beira da depressão e com
Unidos como hegemon mundial. O sociólogo italia- seu fantástico déficit em transações correntes finan-
no Giovanni Arrighi é um desses estudiosos. ciado pelo Japão e cada vez mais pela China (p. 202).
Arrighi persegue – pelo menos desde a publica- Essa virada histórica acentua a possibilidade de
ção nos Estados Unidos de O longo século XX, em equalização do poder mundial, como previu Adam
1994 – o tema da progressiva recuperação do Leste Smith, entre o Ocidente conquistador e o não Oci-
asiático como centro econômico mundial, posição dente conquistado (pp. 18ss.).
perdida para o Ocidente pan-europeu (Estados Uni- A proposta investigativa de Arrighi é ambiciosa:
dos incluídos) desde a metade do século XIX. Na- trata-se de perceber as conexões entre o que fazia da
quele livro, depois de passar em revista todo o pro- China a grande economia mundial até meados do sé-
cesso de transferência de hegemonias do capitalismo culo XIX e o que torna possível que seja ela, nos dias
histórico – em que se sucederam como hegemons Gê- atuais, a protagonista do mais fantástico ressurgimen-
Vol21n1-d.pmd 211 7/7/2009, 17:11
Resenhas, pp. 209-218
to econômico de que se tem notícia. Essa linha é per- de manutenção da liderança mundial. O Projeto para
seguida pelo autor ao longo do livro, o que torna sua o Novo Século Norte-Americano, desenvolvido pelos
leitura bastante instigante, daquelas que se quer con- falcões e acolhido pelo Congresso e pela população
cluir rapidamente para se conhecer o desfecho. amedrontada, recolocou os Estados Unidos na rota
O livro divide-se em quatro partes. De início, das guerras imperialistas. No entanto, a invasão do
Arrighi busca demonstrar como o caminho “natu- Iraque e a tentativa de controlar as maiores reservas de
ral” de desenvolvimento econômico, preconizado por petróleo do mundo se tornaram custosas demais. Au-
Adam Smith, baseado no incremento do mercado menta o déficit público e a dependência financeira do
interno a partir do aprimoramento da agricultura e império com relação às potências ascendentes, sobre-
do comércio, conformou a economia chinesa até o tudo China, que Arrighi compreende ser a grande
fim de seu período imperial. Em contrapartida, em- vencedora da guerra do Iraque.
bora tenha sido a sede da ideologia do livre mercado, Por fim, na quarta parte do livro, além de uma
a Europa havia determinado seu crescimento econô- vigorosa análise do recente debate de intelectuais
mico a partir do ambiente externo, impulsionada norte-americanos sobre como lidar com a “ascensão
pelas conquistas territoriais no continente america- pacífica” chinesa, Arrighi encontra os fundamentos
no. Esse caminho “antinatural” europeu explicaria o históricos do caminho “natural” chinês de desenvol-
que Kenneth Pomeranz chama de Grande Divergên- vimento econômico, do século XII até os dias atuais.
cia, em que a Europa, impulsionada pela Revolução A ênfase, é claro, se dá na estratégia para a retomada
Industrial, ergue sua curva de crescimento, enquan- do crescimento econômico nos últimos vinte anos.
to o Leste asiático entra em forte declínio. A crise de hegemonia norte-americana não se re-
Na segunda parte, Arrighi retoma algumas das fere apenas à perda de credibilidade de sua posição
formulações de O longo século XX e de Caos e governa- como força invencível ou à sua débâcle econômico-fi-
bilidade no moderno sistema mundial 2, em uma analí- nanceira. O próprio american way of life, que susten-
tica que expõe os fundamentos da atual crise econô- tou a pujança consumista da maior economia do
mica, de raízes situadas no início dos anos de 1970. mundo e a admiração de populações de todos os paí-
Em síntese, trata-se de explicar como a queda da taxa ses, aparece como o grande responsável pela devasta-
de lucro naquela década gerou um aumento da finan- ção ecológica de nosso tempo. A mensagem final de
ceirização da economia e fez com que o capital empe- Adam Smith em Pequim refere-se a essa questão. No
nhado na produção buscasse a mão de obra barata dos momento em que a via “natural” chinesa se encontra
países do Terceiro Mundo, sobretudo no Sudeste asiá- com o “caminho extrovertido da Revolução Indus-
tico. Quando o fracasso do Vietnã os fragilizou, os Es- trial”, é o mundo capitalista como um todo que se
tados Unidos tentaram se sustentar com uma política modifica. Como diz Arrighi, “o fato é que nem mes-
monetária frouxa, que impulsionou uma forte expan- mo um quarto da população da China e da Índia
são do crédito, mas sem aumento de demanda com- pode adotar o modo norte-americano de produzir e
parável na economia real. Com dinheiro barato cor- consumir sem matar por sufocação a si mesmo e ao
rendo o mundo, os dólares emitidos pelo Federal Re- resto do mundo” (p. 392). A conquista da hegemo-
serve perderam valor, aprofundando a crise de nia mundial pelos chineses dependerá das decisões a
hegemonia dos Estados Unidos. serem tomadas no futuro próximo. Se o novo ciclo de
Arrighi sugere, na terceira parte, que o 11 de se- desenvolvimento no Leste asiático respeitar os limites
tembro de 2001 teria possibilitado aos Estados Uni- impostos pelo planeta pode ser que a China consiga
dos a deflagração de sua última cartada com o intuito se elevar como modelo para os outros países.
212 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 212 7/7/2009, 17:11
Resenhas
Notas nência a dois: (a) a crescente disseminação do bem-
estar nas sociedades modernas, ainda que, como fri-
1.Giovanni Arrighi, O longo século XX. Rio de Ja- sa o autor, seja mal distribuído; (b) um aumento na
neiro/São Paulo, Contraponto/Editora da Unesp,
Wissenheit (knowledgeability) – que opto por tradu-
1996.
zir pelo termo “cognoscibilidade”.
2.Rio de Janeiro, Contraponto/UFRJ, 2001. Retomando a controvérsia da definição de “mo-
ral” juntamente com a de ética, Stehr afirma que tais
antecedentes não impedem o uso do conceito. “Uma
Nico Stehr, Die Moralisierung der Märkte. Eine moralização dos mercados, em contraponto, não sig-
Gesellschaftstheorie. Frankfurt am Main, nifica que normas morais ‘superiores’, ‘mais civiliza-
Suhrkamp, 2007, 379 pp. das’, ‘mais humanas’ ou até mesmo claramente ‘du-
ráveis’ repentinamente dominem os acontecimentos
Stefan Fornos Klein econômicos como um todo” (p. 15). Trata-se, por-
Doutorando em Sociologia pela FFLCH – USP tanto, de um ponto de vista orientado à ação dos
indivíduos, e que, por isso, entende como condicio-
No âmbito do debate que envolve os limites da nante fundamental, no esteio de outras obras de Stehr,
teoria da ação, o renomado sociólogo alemão Nico o crescente acesso ao conhecimento – e sua impor-
Stehr apresenta em seu mais recente livro, A morali- tância – que se fez presente, em especial, no período
zação dos mercados: uma teoria da sociedade 1, sua con- pós-guerras.
tribuição a essa disputa. Ele sustenta que as mudan- Em linha com a sociologia econômica recente,
ças sociais e econômicas estruturais, ocorridas na so- ele retoma a reconstrução histórica elaborada por Karl
ciedade capitalista durante o século XX, clamam pela Polanyi em A grande transformação, obra amplamen-
alteração do cerne do olhar teórico. Para recorrer às te deixada de lado na literatura estritamente econô-
palavras do autor: “[...] a premissa da obra de Émile mica. No vasto espaço dedicado ao debate da ori-
Durkheim continua válida, e a moral social se altera gem, conceituação e crítica do mercado, Stehr reser-
com a mudança no meio social dos seres humanos” va uma entre as nove partes de seu livro à genealogia
(p. 13). Dessa feita, Stehr contrapõe-se àquela ver- do mercado, filiando-se ao viés interpretativo da cons-
tente da abordagem econômica que compreende a trução social do mercado. Concomitantemente,
racionalidade humana como única e perene. mobiliza o conceito de enraizamento (embeddedness),
São dois os principais pontos a balizar essa tese: formulado por Mark Granovetter, como possível
(i) o predomínio histórico da teoria da produção – vetor pelo qual a moralização se faz presente, dado
tanto nos estudos das ciências sociais como na eco- que os juízos dos consumidores passam não apenas a
nomia – em detrimento do enfoque voltado ao con- se nortear por motivos extramonetários, mas com
sumo, sendo que este passa a ocupar um lugar cada recorrência recusam explicitamente a maximização
vez mais destacado no “lado real” da economia; (ii) dos interesses financeiros em benefício do atendimen-
ao mesmo tempo, o fato de elementos não exclusiva- to a outros condicionantes. A consequência essen-
mente monetários (ou financeiros) terem participa- cial consiste na referência a um acoplamento entre o
ção cada vez maior na tomada de decisão dos indiví- consumo e a produção, obrigando a se pensar essas
duos quanto ao consumo, dando espaço ao que ele esferas conjuntamente.
denominará de decisões morais. Elas são impulsiona- Dessa forma, Stehr objetiva apresentar uma al-
das por diversos fatores, entre os quais ele dá preemi- ternativa à polarização desse debate entre os “defen-
junho 2009 213
Vol21n1-d.pmd 213 7/7/2009, 17:11
Resenhas, pp. 209-218
sores” do mercado, que constituem o mainstream da OGM mostra que, passando ao largo das pressões dos
teoria econômica e advogam a existência do homo indivíduos, sua implementação na agricultura persis-
oeconomicus, e os “críticos” do mercado – originários te avançando significativamente. Deve-se entender,
de um espectro político que vai do liberalismo escla- então, que o diagnóstico de Stehr de fato revela a tôni-
recido ao conservadorismo – que entendem a sua res- ca desse momento histórico, ou estaria, antes, proje-
trição ou superação como necessária. Igualmente pro- tando um futuro desejável? De todo modo, o edifício
cura, mutatis mutandis, escapar à visão de que as re- teórico apresenta contribuições fundamentais à so-
lações de poder entre produtores e consumidores ciologia contemporânea, ao desenhar uma crítica
teriam aqueles como dominantes. No bojo da ascen- multifacetada ao pressuposto da ação racional do in-
são do conhecimento, afirma: “O caráter cognoscitivo divíduo, que (ainda) permanece como base do
[knowledgeability] dos atores aumenta suas possibili- enfoque econômico dominante, e que também tem
dades de ação, sua capacidade de assegurar que, ao implicações sobre as práticas teóricas e políticas.
menos, suas vozes encontrarão eco; crescem as chan-
ces de formular uma opinião categórica, de organi- Notas
zar resistência e, de modo geral, ser um participante
1.Curiosamente, a edição em inglês teve o título e o
ativo no mercado” (p. 237) e “gostaria de definir co- subtítulo alterados, numa mudança que dificilmen-
nhecimento e knowledgeability [cognoscibilidade] te pode ser considerada irrelevante: Moral Markets:
como a faculdade para a ação social (capacidade de How Knowledge and Affluence Change Consumerism
ação), como a possibilidade de iniciar algo” (p. 248). and Products. Boulder, Paradigm Publishers, 2007.
Nesse movimento, seu referencial teórico pauta- A paginação das citações refere-se à edição alemã.
se, sobretudo, pelos estudos de Émile Durkheim e 2.Ainda que sejam esses seus principais interlocu-
Max Weber e, em termos do debate contemporâneo, tores, Stehr mobiliza amplo espectro teórico de di-
no diálogo crítico com autores como Niklas Luh- versas colorações. Menciono, outrossim, a remissão
mann2. A principal divergência que Stehr levanta a Georg Simmel, Karl Marx e Pierre Bourdieu; e
quanto a essa abordagem consiste em matizar a dis- igualmente a referências centrais da sociologia eco-
posição à contínua diferenciação funcional dos siste- nômica, como Richard Swedberg e Neil Smelser.
mas sociais: “Mas também desse ponto de vista a di-
ferenciação funcional do sistema econômico não pode
ser entendida de maneira que a instituição economia
alcance uma autonomia abrangente em relação a ou- José de Souza Martins, Sociologia da fotografia e
tros sistemas sociais” (p. 79). Embasado em pesqui- da imagem. São Paulo, Contexto, 2008, 208 pp.
sas de opinião de países “altamente desenvolvidos”, José de Souza Martins, José de Souza Martins. São
o autor traz o exemplo da biotecnologia e do com- Paulo, Edusp (coleção Artistas da USP), 2008, 184 pp.
portamento axiologicamente orientado, em que ob-
serva a intenção de organizar-se para deixar de ad- Luiz Armando Bagolin
quirir produtos geneticamente modificados. Professor doutor do IEB – USP
A partir de seu principal exemplo empírico, per- Magali dos Reis
mito-me levantar uma possível questão a essa propos- Professora doutora da PUC-MG
ta. Diante da constatação da forte tendência ao au-
mento no grau de pressão exercido pelo consumidor As fotografias de José de Souza Martins, recente-
ante as empresas e governos, o próprio exemplo dos mente publicadas em livro da Edusp (2008),
214 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 214 7/7/2009, 17:11
Resenhas
colimam o seu discurso sobre sociologia da imagem donado, cheio de escombros, lixo e rastros de seus an-
apresentado em Sociologia da fotografia e da imagem tigos ocupantes. De outro, faz-nos indagar sobre
(2008), fazendo da fotografia assim chamada “estéti- quem foram aqueles homens, como viveram, como e
ca”, e não a documental, objeto de representação de por que sofreram e, além de tudo, como nos compor-
imaginários socialmente partilhados. Distante da so- taríamos naquela situação, se ali estivéssemos ou se ali
ciologia e da antropologia que tem na fotografia um tivéssemos vivido como companheiros ou inimigos.
amparo ou suporte metodológico para a investigação Além ou aquém das ruínas, os vestígios, invisíveis, da-
de caráter cientificista, tão somente, Martins, fotó- quela humanidade sondam o imaginário do fotógra-
grafo, amplifica a busca do sociólogo, a exemplo de fo assim como de qualquer outro espectador. Não se
Gisèle Freund e outros, que a entendem como ence- trata, porém, de subjetividade piegas ou de uma leitu-
nação de mitologias cotidianas. O “ato fotográfico” ra psicológica daquilo que na imagem ofereça-se pos-
envolve múltiplas relações e a muitos: o fotógrafo, o sivelmente à introjeção. A fotografia não nos dá a ver
fotografado, um terceiro, o observador eventual da senão aquilo que já não é, ou “o isso foi”, segundo
imagem revelada, sem que possa comunicar um úni- Roland Barthes, revelando pelas ausências, segundo
co sentido ou um que ao menos prevaleça sobre todos Martins, aquilo que se oculta no trato, ou no travo so-
os outros. Por meio daquele, o homem comum pode cial. A fotografia como “representação social” só o é
ficcionalizar-se a si mesmo como recurso à autoiden- na medida em que contempla a “memória do frag-
tificação ou para a manutenção de ritos supérstites, mentário”, como propõe o autor, ou no momento em
pré-modernos, à sociedade industrializada, moderna. que o fotógrafo se conscientiza da impossibilidade de
Para Martins, seguindo Durkheim, o homem co- retratar ou “congelar” a realidade, “aquilo que lá está”
mum é incapaz de interpretar conscientemente as re- ou que “ali esteve”. Talvez, por isso, em francês, a ex-
lações sociais, assim como a situação de que participa. pressão “revelar uma fotografia” seja mais adequada
A “anomia”, conceito durkheimiano, atesta o mo- do que em português, pois se escreve développer une
mento de abstração, de desencontro entre a consciên- photo, quer dizer, literalmente, “desenvolver uma
cia social desse homem e as realidades sociais nas foto”, como acusou Castañon Guimarães, tradutor
quais se insere. Por isso, para Martins, a fotografia, de Barthes para a língua portuguesa. Desnecessário
muito mais do que a palavra (ou a palavra positivada), pensá-la, entretanto, tão somente como imagem “co-
e contra a ideia de verossimilhança em que normal- dificada”, subordinada aos procedimentos inerentes à
mente vem embalada, é instrumento capaz de tornar ciência sobre o funcionamento da câmera escura, se-
visíveis esses desencontros, de pôr em evidência os gundo Barthes, uma vez que genericamente se propõe
descompassos ou os momentos de separação da refe- como imago lucis opera expressa (imagem expressa por
rida consciência. ação da luz); além de sua natureza como código vi-
Em Sociologia da fotografia e da imagem, Martins sual, a fotografia revela, desenvolve a suposição de
pensa a fotografia indicial e subjetiva, na medida em personagens por parte das pessoas que comparecem
que esta permite compartilhar os resíduos de uma hu- diante de uma objetiva, que se deixam, ou não, captu-
manidade, já extinta muitas vezes, convidando-nos a rar pela abertura do diafragma. Tal abertura se dá si-
pensar sobre o que foi a sociedade a qual pertencera. multaneamente para uma espécie de “dramaturgia
As suas fotos sobre o Carandiru não ilustram, antes social” ou para a “sociabilidade como dramaturgia”,
demonstram esse sentimento de dupla pertença que segundo Martins, uma vez que as pessoas “represen-
comparece a todo ato fotográfico. De um lado, as tam-se” e “representam para a sociedade” quando po-
imagens permitem que adentremos num lugar aban- sam para uma fotografia.
junho 2009 215
Vol21n1-d.pmd 215 7/7/2009, 17:11
Resenhas, pp. 209-218
Inútil como documento ou vestígio constitutivo tidiano: “Paranapiacaba”, “Fábrica de Linhas Pavão”,
da história do fotografado, a fotografia como repre- “Cerâmica São Caetano” remetem à ruína como evi-
sentação interdita à biografia o biografado, pois se de- dência das transformações por que passaram aquelas
senvolve, por contingência, em torno do biografável. comunidades que testemunharam a transformação
Contingente, a fotografia só pode ser afeita à memó- de seu modo simples de existência pela industrializa-
ria como estranhamento das perdas, das oposições, ção, aparentemente consubstanciadora da moderni-
das rupturas e do abandono, como construto do mo- dade. Há nesses ensaios um jogo de aparências que
mento irreconciliável do presente com o passado. se move, a par do real, pelo imaginário do fotógrafo,
Não estranha, portanto, que o autor chame a atenção porquanto nas tramas de luzes e sombras, de grades e
para o conceito de “momento decisivo”, de Henri portões, máquinas, escombros e silhuetas humanas,
Cartier-Bresson, interpretando-o como censura à fo- se entrevê o entretecimento de relações humanas pas-
tografia casual, tirada a esmo e tão somente docu- sadas ou daquelas que ainda persistem nostálgicas,
mental, em prol de uma outra que, a partir da imagem graças aos afetos. Pois o olhar que o mantém interes-
devindo, permanece como síntese imagética graças à sado nesses escombros industriais, sobretudo, é de
sua razão compositiva e ao apuro da estesia e do olhar. natureza afetiva, buscando na figuração de seu pas-
Para Martins, a fotografia aliada ao conceito “mo- sado, enquanto menino, critérios para a escolha do
mento decisivo” opõe-se à fotografia, antissociológi- “momento decisivo” na recolha das referidas imagens.
ca, do flagrante e da técnica documentarista a serviço Realistas, essas fotografias o são tão somente como
do congelamento da banalidade. Coincide, assim, o experiência ficcional fortemente identificada com os
seu discurso ainda com o de Barthes quando este cen- princípios compositivos da fotografia produzida en-
sura a imagem fotográfica “unária”, ou seja, aquela tre o final do século XIX e a primeira metade do XX,
que elogia a busca de unidade a fim de reportar “de e particularmente com as obras de Doisneau, Kertész,
uma só vez” aquilo que simplesmente se propõe a re- Henri Cartier-Bresson, Gisèle Freund e outros. O
portar. Martins, no entanto, interpreta como verda- modo como Martins opera a seleção de seus moti-
deira, ou especialmente mais significativa, a fotogra- vos, quase sempre baixos, riparográficos, ou comuns,
fia de caráter “estético”, ou a que é feita conforme as o enquadramento, o tratamento conferido à capta-
premissas bressonianas, uma vez que a entende porta- ção da luz, enevoada, a escolha pela granulação fina
dora de sentido remissivo à situação cotidiana que re- que na imagem em preto e branco gera contrastes
presenta. Ao aceitá-la como uma “ideia sociologica- com contornos menos duros, além de outros deta-
mente mais densa”, o autor também a assume como lhes de natureza técnica, faz dessas imagens análogos
atitude para as suas próprias operações como fotógra- remissivos à história recente da fotografia, sobretudo
fo, não casuais ou documentaristas, fazendo da elabo- a da primeira metade do século XX. De algum modo,
ração e da construção representativa, assim como da na obra de Martins, essas imagens não apenas iconi-
reflexão, que acompanham o ato fotográfico, instru- zam, pela representação das ruínas, a modernidade e
mentos que, recursivamente, operam a sua reflexão o seu declínio, simultaneamente ao aparecimento “de
como sociólogo sobre a imagem e a cotidianidade do uma nova humanidade, juridicamente livre”, mas a
homem comum. comentam pela manutenção de uma forma específi-
No livro da Edusp, já referido, Martins expõe en- ca de discurso quanto à singularidade do olhar e do
saios fotográficos de sua autoria acompanhados de fotografar.
anotações em poemas, de três situações álibis para se Tal relação ainda é evidente nas fotografias colo-
pensar as emanações, ficcionais, das lidas com o co- ridas, que, ao final do livro, saturam de cores inten-
216 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 216 7/7/2009, 17:11
Resenhas
sivamente artificiais as superfícies de objetos e má- “aparentemente” é o empecilho que foi deslocado por
quinas arruinadas, de aspecto ferruginoso. A com- Theodor Adorno na sua busca por reconhecer, ler e
posição de algumas dessas fotos, assim como de seus interpretar a sociedade a partir de elementos como
títulos, alude às diversas tendências da arte abstrata, os citados.
que, no Brasil, estiveram em voga na década de 1950. As estrelas descem à Terra toma por tarefa a explici-
Plenamente operante na fotografia do período, os tação de fenômenos sociais a partir da leitura atenta,
princípios construtivos de uma arte não representa- no período de novembro de 1952 até fevereiro de
tiva grassaram por aqui, na esteira de Rodchenko ou 1953, da coluna de astrologia do Los Angeles Times es-
Lázló Moholy-Nagy, por exemplo, na obra, entre crita por Caroll Righter. Diferentemente das grandes
outros, de Geraldo de Barros, que Martins parece obras de arte, a questão não envolve as sutilezas de
emular pela cor. A cor ajuda a desfazer completa- análise da forma, em que “a referência ao social não
mente qualquer possibilidade de uso dessas imagens deve levar para fora da obra de arte, mas sim levar mais
como registros documentais, pois até mesmo a pátina fundo para dentro dela” (Notas de Literatura I). Em
desses objetos é alterada de modo a não permitir compensação, a astrologia só pode ser discutida a par-
qualquer outro comentário ou impressão que não tir da análise dialética que envolve os textos da coluna
aquele que os remeta à sua estranha aparição na pá- e a sociedade. Essa dialética está centrada, sobretudo,
gina branca do papel. Enaltecendo pela cor a pig- no sujeito configurado pela figura do leitor.
mentação das superfícies em corrosão, as últimas ima- O propósito do livro não é a astrologia em si,
gens presentes no livro de Souza Martins nomeiam- mas a “suscetibilidade” (p. 174) à qual estão sujeitas
se “pós-modernidades”, menos talvez porque as pessoas, ou seja, a astrologia é usada como “chave
testemunharam o ocaso da modernidade, mas por- para potencialidades sociais e psicológicas muito mais
que tomam por empréstimo, como apropriação ou abrangentes” (p. 174). A astrologia é vista como “sin-
arte combinatória, procedimentos de experimenta- toma” (p. 174) de tendências sociais específicas.
ção da imagem análogos aos de outros artistas que, Esse propósito implica, no decorrer do estudo,
outrora, agiram sob a égide daquela categoria. um procedimento de análise que lança mão, de um
lado, de conceitos ligados à psicanálise e à psiquia-
tria e, de outro, de conceitos sociológicos. Mas essas
Theodor W. Adorno, As estrelas descem à Terra – duas perspectivas aparecem dialeticamente relacio-
a coluna de astrologia do Los Angeles Times: um nadas por meio de um pensamento filosófico que
estudo sobre superstição secundária. Tradução reconhece nos indivíduos as questões sociais, tendo
Pedro Rocha de Oliveira. São Paulo, Editora da em vista no entanto que “a sociedade é feita daqueles
que ela abarca” (p. 175).
Unesp, 2008, 194 pp.
Dessa forma, o autor recorre em grande medida
Patrícia da Silva Santos à “abordagem bifásica” que, em psicologia, corres-
Mestranda em Sociologia pela USP ponde ao comportamento neurótico que oscila entre
extremos contraditórios, por exemplo, alguém que
O que poderia haver em comum nas previsões de age em relação a si mesmo por vezes como criança
horóscopo do Los Angeles Times da década de 1950, travessa, por outras como disciplinador severo. Para
na literatura de Franz Kafka e na música de Stravins- Adorno, a coluna utiliza-se desse instrumento de po-
ky? Aparentemente não há nada de substancioso que laridades para manter a dependência do leitor, ao tra-
possa atar coisas tão diferentes. Mas justamente esse balhar com uma imagem dele como sendo alguém
junho 2009 217
Vol21n1-d.pmd 217 7/7/2009, 17:11
Resenhas, pp. 209-218
frustrado e, ao mesmo tempo, passível de obter su- te socializado” (p. 32). Essa é uma das especificida-
cesso. Desse modo, a individualidade só é conquis- des bases da astrologia no período moderno e Ador-
tada a partir do sacrifício que o leitor faz de si mes- no procura sublinhar reiteradas vezes esse caráter em
mo em nome de uma crença arbitrária nos ditames seu esforço de articular o estudo da coluna com a
da coluna. Nesse sentido, a dependência, a semifor- interpretação dos processos sociais. Assim, a astrolo-
mação e outros elementos aparecem associados à gia moderna aparece pautada num “super-realismo”
suscitação de “disposições paranoicas” (p. 190), no (p. 36), que releva a “ordem do cotidiano” (p. 91),
interior das quais a astrologia aparece como um dos ordem essa, por sua vez, regulada pelo mundo do
sintomas da regressão social. A afirmação do sujeito trabalho e pelas configurações sociais e familiares
só ocorre mediante a sua negação diante das potên- modernas. Contraditoriamente, a astrologia está fun-
cias sociais (trabalho, família, relacionamentos etc.). dada nas bases arbitrárias da determinação dos astros
No âmbito estritamente sociológico, é interessan- sobre as vidas individuais, no entanto “esse mistério
te destacar a recorrência às observações ligadas às clas- não é mera ‘superstição’. Ele é a expressão negativa
ses sociais, à divisão sexual do trabalho dos leitores da organização do trabalho e, mais especificamente,
da coluna, bem como à manutenção dos sistemas de da organização da ciência” (p. 182).
autoridade por meio da exposição frequente da figu- Outra reflexão importante que Adorno retoma
ra do chefe (aos leitores, aconselha-se sempre a obe- no texto sobre a coluna de astrologia é a de “indús-
diência à hierarquia do trabalho). tria cultural”. A forma moderna do zodíaco sob a
O livro retoma conceitos centrais da filosofia concepção de “superstição secundária” depende dela,
adorniana de maneira bastante específica. Gostaria em grande medida. A coluna, assim como o cinema
de destacar dois desses desenvolvimentos um pou- e outras formas de indústria cultural, ajuda a manter
co mais detalhadamente. uma espécie de “normalidade” social pré-fabricada e
O primeiro é a retomada da concepção base da fundamentada na esfera da aparência, que impede o
Dialética do esclarecimento: o “entrelaçamento do mito indivíduo de chegar a uma reflexão autêntica e o
e do esclarecimento”. Tal concepção é pontuada em mantém estritamente nos limites da ideologia.
vários momentos na discussão sobre a coluna de as- Esses dois aspectos da discussão de Adorno fazem
trologia. A crença no zodíaco ilustra muito bem o da análise sobre a astrologia um estudo sociológico
fato de que “a irracionalidade não é necessariamente que articula a totalidade social a aspectos particulares.
uma força que opera em uma esfera externa à racio- Trata-se, assim como no caso das análises da literatu-
nalidade: ela pode resultar do transtorno de proces- ra ou da música (embora com procedimentos dife-
sos racionais de autoconservação” (p. 30). Desse rentes, ajustados às especificidades dos objetos), de
modo, a tensão entre progresso científico e a crença remover a esfera do “aparente” sustentada pela ideo-
na astrologia é mantida latente por conta do caráter logia com o intuito de melhor reconhecer a dialética
de “superstição secundária” adquirido por essa últi- dos mecanismos sociais.
ma em sua configuração moderna. Nesse sentido, a Por fim, ponto importante e relevante do livro é
análise da coluna de astrologia não tem relações com o seu desenvolvimento sob a forma do ensaio, arti-
o oculto (que seria a “superstição primária”), em sen- culando a observação empírica à análise especulativa,
tido individual e de expressões do inconsciente (como sob a égide da especificidade do pensamento ador-
a visão de fantasmas, ou a telepatia, exemplos utili- niano. No entanto, diferentemente de outros textos
zados por Adorno), mas, ao contrário, “o oculto apa- considerados mais herméticos, a leitura de As estrelas
rece, aqui, institucionalizado, objetivado e amplamen- descem à Terra flui de maneira particular devido à sua
218 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 218 7/7/2009, 17:11
Resenhas
escrita menos rebuscada e à argumentação pautada sal dos textos restantes, apesar de não contrabalançar
em exemplos. Embora essa característica em si mes- o salto qualitativo que poderia ter sido dado com a
ma não tenha relação determinante com a qualidade delimitação prévia de um objeto de pesquisa e de
do texto, ela é mais um incentivo à leitura para aque- uma metodologia de comparação baseada em parâ-
les que se esquivam do autor alegando a dificuldade metros equivalentes para os casos analisados.
da sua escrita. No caso do texto de Jefferson da Conceição, a uti-
lização desse instrumento seria imprescindível para
sustentar sua tese central. Ao desenvolver uma crítica
Iram Jácome Rodrigues & José Ricardo Ramalho ao argumento empresarial do “custo ABC”, esse autor
(orgs.), Trabalho e sindicato em antigos e novos se baseia na avaliação de dados do valor adicionado
territórios produtivos: comparações entre o ABC nas indústrias de autopeças, e conclui sobre o cresci-
paulista e o sul fluminense. São Paulo, Annablu- mento da lucratividade e produtividade no setor no
período estudado. Porém, ao não contrapor os dados
me, 2007, 364 pp.
apresentados com os de outras regiões, sua exposição
Davisson Charles Cangussu de Souza perde força explicativa. Ora, pode-se indagar se as
Doutorando em Sociologia pela FFLCH – USP “vantagens comparativas” que o mercado de produ-
ção e consumo brasileiro oferece em relação aos países
A coletânea analisa as transformações ocorridas capitalistas centrais (o que explica a fragilidade da
nas duas últimas décadas no trabalho, no sindicato e também difundida tese do “custo Brasil”) não seriam
nos “territórios produtivos” que abrigam os dois prin- ainda maiores nos “novos territórios”, a começar pela
cipais polos da indústria automotiva brasileira: o ABC ausência de tradição de luta sindical.
paulista, uma região tradicional no setor desde o fi- Um aspecto metodológico importante de ser des-
nal da década de 1950, e o sul fluminense, incluída tacado está presente no artigo de Cecília Pontes et
nessa cadeia produtiva nos anos de 1990. A origina- al., que resume os resultados da pesquisa comparati-
lidade do enfoque proposto e a diversidade temática va realizada pelos organizadores da coletânea. A par-
que apresenta torna sua leitura indispensável para os tir da aplicação de um survey junto a operários do
estudiosos das questões trabalhistas e sindicais no ABC e do sul fluminense, os autores concluem que,
Brasil, estimulando o debate acadêmico tanto entre a despeito de diferenças relevantes no perfil socioe-
os que se identificam com sua abordagem como en- conômico entre os trabalhadores das duas regiões, as
tre seus críticos. Sem a preocupação de abordar cada representações que estes fazem de suas condições de
um de seus treze artigos, teceremos alguns comentá- trabalho são bastante similares. O procedimento ado-
rios sobre determinados aspectos analíticos e meto- tado nesse trabalho revela uma concepção apriorística
dológicos que nos chamaram a atenção durante a lei- dos fatores que condicionam “o comportamento e as
tura de alguns textos. opiniões” dos operários, pautados exclusivamente em
O objetivo mais geral do livro é estabelecer com- critérios sociais e econômicos. Ademais, mesmo que
parações entre as duas regiões escolhidas. Porém, ao a própria pesquisa mostre não haver uma relação de
contrário do que o próprio título sugere, apenas três causa e efeito entre os aspectos escolhidos, não é rea-
artigos adotam esse procedimento, o que pode de- lizado um esforço analítico adicional a fim de verifi-
cepcionar o leitor que espera encontrar aí uma série car o que há de comum entre esses dois segmentos
de exercícios comparativos. Essa ausência pode ser que resulta em “atitudes operárias” tão semelhantes.
compensada parcialmente por uma leitura transver- Essa questão poderia ter sido aprofundada a partir
junho 2009 219
Vol21n1-d.pmd 219 7/7/2009, 17:11
Resenhas, pp. 209-218
de critérios metodológicos mais amplos na elabora- lúrgicos do ABC “tem mantido sua tradição históri-
ção do questionário ou por meio de entrevistas ca de defesa dos interesses dos trabalhadores” em seu
dirigidas semiestruturadas, em que se poderia explo- apoio à criação de cooperativas e à economia solidá-
rar elementos do plano político-ideológico e cultural. ria (p. 360).
A leitura que os autores fazem das transformações Em outros artigos, os autores opinam até mesmo
analisadas advém de um marco teórico situado em sobre o dever-fazer dos “atores”. Refletindo sobre a
uma determinada interpretação no campo da teoria participação do sindicato dos metalúrgicos nas estra-
da globalização. A ideia que os une, sintetizada no tex- tégias de desenvolvimento regional no ABC, Zeíra
to de apresentação dos organizadores, é a constatação Camargo afirma que os fóruns regionais “devem ser
de um movimento de reespacialização das fábricas, fortalecidos”, ou ainda que “os atores devem conti-
que tem alterado os antigos e instalado novos territó- nuar se qualificando para a elaboração e execução de
rios produtivos. Esse processo teria provocado o surgi- projetos regionais” (p. 136). Na avaliação do “papel
mento de estratégias baseadas em “arranjos institu- das redes sociopolíticas na promoção do desenvolvi-
cionais”, cujo pressuposto geral está na visão de que é mento regional” no sul fluminense, Rodrigo Santos
possível o “entendimento” entre os “agentes sociais” a destaca que a região ainda caminha para esse “ama-
respeito de políticas de desenvolvimento regional. durecimento”, mas que “espera-se que o sindicato dos
Esse mesmo debate tem dividido a CUT desde o metalúrgicos [...] assuma uma postura mais decidida
início dos anos de 1990 entre uma ala majoritária nessa construção” (p. 115).
defensora de uma prática mais “propositiva” e cor- Não encontramos nesses trabalhos argumentos
rentes minoritárias que defendem a continuidade do que validem as conclusões de seus autores. Sendo
modelo de ação “combativa” que caracterizou a cen- assim, o “juízo de valor” que emitem faz com que a
tral nos anos de 1980. Também na bibliografia po- ideologia política sindical perca seu caráter de objeto
demos encontrar argumentos “partidários” de cada de análise, reafirmando uma velha tradição nos estu-
um dos dois lados, nem sempre apresentados com a dos sobre sindicalismo no Brasil, em que a aborda-
devida argumentação crítica, apresentação de dados gem teórica dos autores se confunde com o posiciona-
empíricos e rigor teórico. Esse é o caso de alguns tex- mento político dos sindicatos analisados.
tos presentes nesta coletânea, nos quais a maneira
como determinados autores “tomam partido” os ex-
põe a certa fragilidade argumentativa, em que as ca-
tegorias analíticas são substituídas muitas vezes por
meras adjetivações elogiosas às práticas sindicais do
setor hegemônico cutista. Regina dos Reis, por exem-
plo, ao tratar dos mecanismos de “articulação políti-
ca regional”, desenvolvida no ABC ao longo dos anos
de 1990, com intensa participação dos sindicatos da
CUT, avalia-os como “iniciativas inovadoras”, ou
“experiências positivas”, que estariam “acima das di-
vergências político-partidárias e dos diferentes inte-
resses e tensões existentes entre as esferas do poder
público, privado e da sociedade civil” (p. 77). Nilson
Oda conclui em seu texto que o sindicato dos meta-
220 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 220 7/7/2009, 17:11
Resenhas nova/Ibéria, Holanda, Grã-Bretanha e Estados Uni-
dos –, Arrighi depara-se com o crescimento assom-
broso do Japão no pós-guerra. Em princípio finan-
ciados pela pujança norte-americana, nos anos de
1980 os japoneses haviam invertido essa situação, de-
sembolsando “um imenso volume de capital para res-
paldar os déficits das contas externas e o desequilí-
brio fiscal interno dos Estados Unidos”1.
O conceito schumpeteriano de intercâmbio polí-
tico, reformulado por Arrighi, prevê que o ente hege-
mônico do capitalismo histórico se articula na relação
entre dois atores: o que detém capital e aquele que
possui força político-militar. No contexto da crise nos
Estados Unidos e do crescimento econômico no Les-
te asiático, o epílogo de O longo século XX sugeria que
um novo pacto entre a potência econômica ascenden-
te, o Japão, e a águia guerreira norte-americana pode-
ria formular novas bases para a acumulação capitalista
Giovanni Arrighi, Adam Smith em Pequim: origens no final do milênio.
e fundamentos do século XXI. São Paulo, A hipótese de uma combinação bilateral entre eco-
Boitempo, 2008, 432 pp. nomia e política – que lembraria a relação entre Gê-
nova (capital) e Espanha e Portugal (força político-
Wagner de Melo Romão militar) no século XVI – cai por terra com a ascensão
Doutorando em Sociologia pela FFLCH – USP da China. Nos anos de 2000, a China – que já era
considerada líder regional por sua população, exten-
A partir de meados dos anos de 1970, tem início são territorial e relativa posição de força no Extremo
o declínio dos Estados Unidos como líder inconteste Oriente – extrai de seu galopante desenvolvimento
do sistema internacional. Desde aqueles anos, pes- econômico a posição de séria candidata a hegemon.
quisadores têm buscado identificar indícios de qual Tem como rival os Estados Unidos, enfraquecidos
país ou grupo de países poderá substituir os Estados pelo atoleiro iraquiano, à beira da depressão e com
Unidos como hegemon mundial. O sociólogo italia- seu fantástico déficit em transações correntes finan-
no Giovanni Arrighi é um desses estudiosos. ciado pelo Japão e cada vez mais pela China (p. 202).
Arrighi persegue – pelo menos desde a publica- Essa virada histórica acentua a possibilidade de
ção nos Estados Unidos de O longo século XX, em equalização do poder mundial, como previu Adam
1994 – o tema da progressiva recuperação do Leste Smith, entre o Ocidente conquistador e o não Oci-
asiático como centro econômico mundial, posição dente conquistado (pp. 18ss.).
perdida para o Ocidente pan-europeu (Estados Uni- A proposta investigativa de Arrighi é ambiciosa:
dos incluídos) desde a metade do século XIX. Na- trata-se de perceber as conexões entre o que fazia da
quele livro, depois de passar em revista todo o pro- China a grande economia mundial até meados do sé-
cesso de transferência de hegemonias do capitalismo culo XIX e o que torna possível que seja ela, nos dias
histórico – em que se sucederam como hegemons Gê- atuais, a protagonista do mais fantástico ressurgimen-
Vol21n1-d.pmd 211 7/7/2009, 17:11
Resenhas, pp. 209-218
to econômico de que se tem notícia. Essa linha é per- de manutenção da liderança mundial. O Projeto para
seguida pelo autor ao longo do livro, o que torna sua o Novo Século Norte-Americano, desenvolvido pelos
leitura bastante instigante, daquelas que se quer con- falcões e acolhido pelo Congresso e pela população
cluir rapidamente para se conhecer o desfecho. amedrontada, recolocou os Estados Unidos na rota
O livro divide-se em quatro partes. De início, das guerras imperialistas. No entanto, a invasão do
Arrighi busca demonstrar como o caminho “natu- Iraque e a tentativa de controlar as maiores reservas de
ral” de desenvolvimento econômico, preconizado por petróleo do mundo se tornaram custosas demais. Au-
Adam Smith, baseado no incremento do mercado menta o déficit público e a dependência financeira do
interno a partir do aprimoramento da agricultura e império com relação às potências ascendentes, sobre-
do comércio, conformou a economia chinesa até o tudo China, que Arrighi compreende ser a grande
fim de seu período imperial. Em contrapartida, em- vencedora da guerra do Iraque.
bora tenha sido a sede da ideologia do livre mercado, Por fim, na quarta parte do livro, além de uma
a Europa havia determinado seu crescimento econô- vigorosa análise do recente debate de intelectuais
mico a partir do ambiente externo, impulsionada norte-americanos sobre como lidar com a “ascensão
pelas conquistas territoriais no continente america- pacífica” chinesa, Arrighi encontra os fundamentos
no. Esse caminho “antinatural” europeu explicaria o históricos do caminho “natural” chinês de desenvol-
que Kenneth Pomeranz chama de Grande Divergên- vimento econômico, do século XII até os dias atuais.
cia, em que a Europa, impulsionada pela Revolução A ênfase, é claro, se dá na estratégia para a retomada
Industrial, ergue sua curva de crescimento, enquan- do crescimento econômico nos últimos vinte anos.
to o Leste asiático entra em forte declínio. A crise de hegemonia norte-americana não se re-
Na segunda parte, Arrighi retoma algumas das fere apenas à perda de credibilidade de sua posição
formulações de O longo século XX e de Caos e governa- como força invencível ou à sua débâcle econômico-fi-
bilidade no moderno sistema mundial 2, em uma analí- nanceira. O próprio american way of life, que susten-
tica que expõe os fundamentos da atual crise econô- tou a pujança consumista da maior economia do
mica, de raízes situadas no início dos anos de 1970. mundo e a admiração de populações de todos os paí-
Em síntese, trata-se de explicar como a queda da taxa ses, aparece como o grande responsável pela devasta-
de lucro naquela década gerou um aumento da finan- ção ecológica de nosso tempo. A mensagem final de
ceirização da economia e fez com que o capital empe- Adam Smith em Pequim refere-se a essa questão. No
nhado na produção buscasse a mão de obra barata dos momento em que a via “natural” chinesa se encontra
países do Terceiro Mundo, sobretudo no Sudeste asiá- com o “caminho extrovertido da Revolução Indus-
tico. Quando o fracasso do Vietnã os fragilizou, os Es- trial”, é o mundo capitalista como um todo que se
tados Unidos tentaram se sustentar com uma política modifica. Como diz Arrighi, “o fato é que nem mes-
monetária frouxa, que impulsionou uma forte expan- mo um quarto da população da China e da Índia
são do crédito, mas sem aumento de demanda com- pode adotar o modo norte-americano de produzir e
parável na economia real. Com dinheiro barato cor- consumir sem matar por sufocação a si mesmo e ao
rendo o mundo, os dólares emitidos pelo Federal Re- resto do mundo” (p. 392). A conquista da hegemo-
serve perderam valor, aprofundando a crise de nia mundial pelos chineses dependerá das decisões a
hegemonia dos Estados Unidos. serem tomadas no futuro próximo. Se o novo ciclo de
Arrighi sugere, na terceira parte, que o 11 de se- desenvolvimento no Leste asiático respeitar os limites
tembro de 2001 teria possibilitado aos Estados Uni- impostos pelo planeta pode ser que a China consiga
dos a deflagração de sua última cartada com o intuito se elevar como modelo para os outros países.
212 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 212 7/7/2009, 17:11
Resenhas
Notas nência a dois: (a) a crescente disseminação do bem-
estar nas sociedades modernas, ainda que, como fri-
1.Giovanni Arrighi, O longo século XX. Rio de Ja- sa o autor, seja mal distribuído; (b) um aumento na
neiro/São Paulo, Contraponto/Editora da Unesp,
Wissenheit (knowledgeability) – que opto por tradu-
1996.
zir pelo termo “cognoscibilidade”.
2.Rio de Janeiro, Contraponto/UFRJ, 2001. Retomando a controvérsia da definição de “mo-
ral” juntamente com a de ética, Stehr afirma que tais
antecedentes não impedem o uso do conceito. “Uma
Nico Stehr, Die Moralisierung der Märkte. Eine moralização dos mercados, em contraponto, não sig-
Gesellschaftstheorie. Frankfurt am Main, nifica que normas morais ‘superiores’, ‘mais civiliza-
Suhrkamp, 2007, 379 pp. das’, ‘mais humanas’ ou até mesmo claramente ‘du-
ráveis’ repentinamente dominem os acontecimentos
Stefan Fornos Klein econômicos como um todo” (p. 15). Trata-se, por-
Doutorando em Sociologia pela FFLCH – USP tanto, de um ponto de vista orientado à ação dos
indivíduos, e que, por isso, entende como condicio-
No âmbito do debate que envolve os limites da nante fundamental, no esteio de outras obras de Stehr,
teoria da ação, o renomado sociólogo alemão Nico o crescente acesso ao conhecimento – e sua impor-
Stehr apresenta em seu mais recente livro, A morali- tância – que se fez presente, em especial, no período
zação dos mercados: uma teoria da sociedade 1, sua con- pós-guerras.
tribuição a essa disputa. Ele sustenta que as mudan- Em linha com a sociologia econômica recente,
ças sociais e econômicas estruturais, ocorridas na so- ele retoma a reconstrução histórica elaborada por Karl
ciedade capitalista durante o século XX, clamam pela Polanyi em A grande transformação, obra amplamen-
alteração do cerne do olhar teórico. Para recorrer às te deixada de lado na literatura estritamente econô-
palavras do autor: “[...] a premissa da obra de Émile mica. No vasto espaço dedicado ao debate da ori-
Durkheim continua válida, e a moral social se altera gem, conceituação e crítica do mercado, Stehr reser-
com a mudança no meio social dos seres humanos” va uma entre as nove partes de seu livro à genealogia
(p. 13). Dessa feita, Stehr contrapõe-se àquela ver- do mercado, filiando-se ao viés interpretativo da cons-
tente da abordagem econômica que compreende a trução social do mercado. Concomitantemente,
racionalidade humana como única e perene. mobiliza o conceito de enraizamento (embeddedness),
São dois os principais pontos a balizar essa tese: formulado por Mark Granovetter, como possível
(i) o predomínio histórico da teoria da produção – vetor pelo qual a moralização se faz presente, dado
tanto nos estudos das ciências sociais como na eco- que os juízos dos consumidores passam não apenas a
nomia – em detrimento do enfoque voltado ao con- se nortear por motivos extramonetários, mas com
sumo, sendo que este passa a ocupar um lugar cada recorrência recusam explicitamente a maximização
vez mais destacado no “lado real” da economia; (ii) dos interesses financeiros em benefício do atendimen-
ao mesmo tempo, o fato de elementos não exclusiva- to a outros condicionantes. A consequência essen-
mente monetários (ou financeiros) terem participa- cial consiste na referência a um acoplamento entre o
ção cada vez maior na tomada de decisão dos indiví- consumo e a produção, obrigando a se pensar essas
duos quanto ao consumo, dando espaço ao que ele esferas conjuntamente.
denominará de decisões morais. Elas são impulsiona- Dessa forma, Stehr objetiva apresentar uma al-
das por diversos fatores, entre os quais ele dá preemi- ternativa à polarização desse debate entre os “defen-
junho 2009 213
Vol21n1-d.pmd 213 7/7/2009, 17:11
Resenhas, pp. 209-218
sores” do mercado, que constituem o mainstream da OGM mostra que, passando ao largo das pressões dos
teoria econômica e advogam a existência do homo indivíduos, sua implementação na agricultura persis-
oeconomicus, e os “críticos” do mercado – originários te avançando significativamente. Deve-se entender,
de um espectro político que vai do liberalismo escla- então, que o diagnóstico de Stehr de fato revela a tôni-
recido ao conservadorismo – que entendem a sua res- ca desse momento histórico, ou estaria, antes, proje-
trição ou superação como necessária. Igualmente pro- tando um futuro desejável? De todo modo, o edifício
cura, mutatis mutandis, escapar à visão de que as re- teórico apresenta contribuições fundamentais à so-
lações de poder entre produtores e consumidores ciologia contemporânea, ao desenhar uma crítica
teriam aqueles como dominantes. No bojo da ascen- multifacetada ao pressuposto da ação racional do in-
são do conhecimento, afirma: “O caráter cognoscitivo divíduo, que (ainda) permanece como base do
[knowledgeability] dos atores aumenta suas possibili- enfoque econômico dominante, e que também tem
dades de ação, sua capacidade de assegurar que, ao implicações sobre as práticas teóricas e políticas.
menos, suas vozes encontrarão eco; crescem as chan-
ces de formular uma opinião categórica, de organi- Notas
zar resistência e, de modo geral, ser um participante
1.Curiosamente, a edição em inglês teve o título e o
ativo no mercado” (p. 237) e “gostaria de definir co- subtítulo alterados, numa mudança que dificilmen-
nhecimento e knowledgeability [cognoscibilidade] te pode ser considerada irrelevante: Moral Markets:
como a faculdade para a ação social (capacidade de How Knowledge and Affluence Change Consumerism
ação), como a possibilidade de iniciar algo” (p. 248). and Products. Boulder, Paradigm Publishers, 2007.
Nesse movimento, seu referencial teórico pauta- A paginação das citações refere-se à edição alemã.
se, sobretudo, pelos estudos de Émile Durkheim e 2.Ainda que sejam esses seus principais interlocu-
Max Weber e, em termos do debate contemporâneo, tores, Stehr mobiliza amplo espectro teórico de di-
no diálogo crítico com autores como Niklas Luh- versas colorações. Menciono, outrossim, a remissão
mann2. A principal divergência que Stehr levanta a Georg Simmel, Karl Marx e Pierre Bourdieu; e
quanto a essa abordagem consiste em matizar a dis- igualmente a referências centrais da sociologia eco-
posição à contínua diferenciação funcional dos siste- nômica, como Richard Swedberg e Neil Smelser.
mas sociais: “Mas também desse ponto de vista a di-
ferenciação funcional do sistema econômico não pode
ser entendida de maneira que a instituição economia
alcance uma autonomia abrangente em relação a ou- José de Souza Martins, Sociologia da fotografia e
tros sistemas sociais” (p. 79). Embasado em pesqui- da imagem. São Paulo, Contexto, 2008, 208 pp.
sas de opinião de países “altamente desenvolvidos”, José de Souza Martins, José de Souza Martins. São
o autor traz o exemplo da biotecnologia e do com- Paulo, Edusp (coleção Artistas da USP), 2008, 184 pp.
portamento axiologicamente orientado, em que ob-
serva a intenção de organizar-se para deixar de ad- Luiz Armando Bagolin
quirir produtos geneticamente modificados. Professor doutor do IEB – USP
A partir de seu principal exemplo empírico, per- Magali dos Reis
mito-me levantar uma possível questão a essa propos- Professora doutora da PUC-MG
ta. Diante da constatação da forte tendência ao au-
mento no grau de pressão exercido pelo consumidor As fotografias de José de Souza Martins, recente-
ante as empresas e governos, o próprio exemplo dos mente publicadas em livro da Edusp (2008),
214 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 214 7/7/2009, 17:11
Resenhas
colimam o seu discurso sobre sociologia da imagem donado, cheio de escombros, lixo e rastros de seus an-
apresentado em Sociologia da fotografia e da imagem tigos ocupantes. De outro, faz-nos indagar sobre
(2008), fazendo da fotografia assim chamada “estéti- quem foram aqueles homens, como viveram, como e
ca”, e não a documental, objeto de representação de por que sofreram e, além de tudo, como nos compor-
imaginários socialmente partilhados. Distante da so- taríamos naquela situação, se ali estivéssemos ou se ali
ciologia e da antropologia que tem na fotografia um tivéssemos vivido como companheiros ou inimigos.
amparo ou suporte metodológico para a investigação Além ou aquém das ruínas, os vestígios, invisíveis, da-
de caráter cientificista, tão somente, Martins, fotó- quela humanidade sondam o imaginário do fotógra-
grafo, amplifica a busca do sociólogo, a exemplo de fo assim como de qualquer outro espectador. Não se
Gisèle Freund e outros, que a entendem como ence- trata, porém, de subjetividade piegas ou de uma leitu-
nação de mitologias cotidianas. O “ato fotográfico” ra psicológica daquilo que na imagem ofereça-se pos-
envolve múltiplas relações e a muitos: o fotógrafo, o sivelmente à introjeção. A fotografia não nos dá a ver
fotografado, um terceiro, o observador eventual da senão aquilo que já não é, ou “o isso foi”, segundo
imagem revelada, sem que possa comunicar um úni- Roland Barthes, revelando pelas ausências, segundo
co sentido ou um que ao menos prevaleça sobre todos Martins, aquilo que se oculta no trato, ou no travo so-
os outros. Por meio daquele, o homem comum pode cial. A fotografia como “representação social” só o é
ficcionalizar-se a si mesmo como recurso à autoiden- na medida em que contempla a “memória do frag-
tificação ou para a manutenção de ritos supérstites, mentário”, como propõe o autor, ou no momento em
pré-modernos, à sociedade industrializada, moderna. que o fotógrafo se conscientiza da impossibilidade de
Para Martins, seguindo Durkheim, o homem co- retratar ou “congelar” a realidade, “aquilo que lá está”
mum é incapaz de interpretar conscientemente as re- ou que “ali esteve”. Talvez, por isso, em francês, a ex-
lações sociais, assim como a situação de que participa. pressão “revelar uma fotografia” seja mais adequada
A “anomia”, conceito durkheimiano, atesta o mo- do que em português, pois se escreve développer une
mento de abstração, de desencontro entre a consciên- photo, quer dizer, literalmente, “desenvolver uma
cia social desse homem e as realidades sociais nas foto”, como acusou Castañon Guimarães, tradutor
quais se insere. Por isso, para Martins, a fotografia, de Barthes para a língua portuguesa. Desnecessário
muito mais do que a palavra (ou a palavra positivada), pensá-la, entretanto, tão somente como imagem “co-
e contra a ideia de verossimilhança em que normal- dificada”, subordinada aos procedimentos inerentes à
mente vem embalada, é instrumento capaz de tornar ciência sobre o funcionamento da câmera escura, se-
visíveis esses desencontros, de pôr em evidência os gundo Barthes, uma vez que genericamente se propõe
descompassos ou os momentos de separação da refe- como imago lucis opera expressa (imagem expressa por
rida consciência. ação da luz); além de sua natureza como código vi-
Em Sociologia da fotografia e da imagem, Martins sual, a fotografia revela, desenvolve a suposição de
pensa a fotografia indicial e subjetiva, na medida em personagens por parte das pessoas que comparecem
que esta permite compartilhar os resíduos de uma hu- diante de uma objetiva, que se deixam, ou não, captu-
manidade, já extinta muitas vezes, convidando-nos a rar pela abertura do diafragma. Tal abertura se dá si-
pensar sobre o que foi a sociedade a qual pertencera. multaneamente para uma espécie de “dramaturgia
As suas fotos sobre o Carandiru não ilustram, antes social” ou para a “sociabilidade como dramaturgia”,
demonstram esse sentimento de dupla pertença que segundo Martins, uma vez que as pessoas “represen-
comparece a todo ato fotográfico. De um lado, as tam-se” e “representam para a sociedade” quando po-
imagens permitem que adentremos num lugar aban- sam para uma fotografia.
junho 2009 215
Vol21n1-d.pmd 215 7/7/2009, 17:11
Resenhas, pp. 209-218
Inútil como documento ou vestígio constitutivo tidiano: “Paranapiacaba”, “Fábrica de Linhas Pavão”,
da história do fotografado, a fotografia como repre- “Cerâmica São Caetano” remetem à ruína como evi-
sentação interdita à biografia o biografado, pois se de- dência das transformações por que passaram aquelas
senvolve, por contingência, em torno do biografável. comunidades que testemunharam a transformação
Contingente, a fotografia só pode ser afeita à memó- de seu modo simples de existência pela industrializa-
ria como estranhamento das perdas, das oposições, ção, aparentemente consubstanciadora da moderni-
das rupturas e do abandono, como construto do mo- dade. Há nesses ensaios um jogo de aparências que
mento irreconciliável do presente com o passado. se move, a par do real, pelo imaginário do fotógrafo,
Não estranha, portanto, que o autor chame a atenção porquanto nas tramas de luzes e sombras, de grades e
para o conceito de “momento decisivo”, de Henri portões, máquinas, escombros e silhuetas humanas,
Cartier-Bresson, interpretando-o como censura à fo- se entrevê o entretecimento de relações humanas pas-
tografia casual, tirada a esmo e tão somente docu- sadas ou daquelas que ainda persistem nostálgicas,
mental, em prol de uma outra que, a partir da imagem graças aos afetos. Pois o olhar que o mantém interes-
devindo, permanece como síntese imagética graças à sado nesses escombros industriais, sobretudo, é de
sua razão compositiva e ao apuro da estesia e do olhar. natureza afetiva, buscando na figuração de seu pas-
Para Martins, a fotografia aliada ao conceito “mo- sado, enquanto menino, critérios para a escolha do
mento decisivo” opõe-se à fotografia, antissociológi- “momento decisivo” na recolha das referidas imagens.
ca, do flagrante e da técnica documentarista a serviço Realistas, essas fotografias o são tão somente como
do congelamento da banalidade. Coincide, assim, o experiência ficcional fortemente identificada com os
seu discurso ainda com o de Barthes quando este cen- princípios compositivos da fotografia produzida en-
sura a imagem fotográfica “unária”, ou seja, aquela tre o final do século XIX e a primeira metade do XX,
que elogia a busca de unidade a fim de reportar “de e particularmente com as obras de Doisneau, Kertész,
uma só vez” aquilo que simplesmente se propõe a re- Henri Cartier-Bresson, Gisèle Freund e outros. O
portar. Martins, no entanto, interpreta como verda- modo como Martins opera a seleção de seus moti-
deira, ou especialmente mais significativa, a fotogra- vos, quase sempre baixos, riparográficos, ou comuns,
fia de caráter “estético”, ou a que é feita conforme as o enquadramento, o tratamento conferido à capta-
premissas bressonianas, uma vez que a entende porta- ção da luz, enevoada, a escolha pela granulação fina
dora de sentido remissivo à situação cotidiana que re- que na imagem em preto e branco gera contrastes
presenta. Ao aceitá-la como uma “ideia sociologica- com contornos menos duros, além de outros deta-
mente mais densa”, o autor também a assume como lhes de natureza técnica, faz dessas imagens análogos
atitude para as suas próprias operações como fotógra- remissivos à história recente da fotografia, sobretudo
fo, não casuais ou documentaristas, fazendo da elabo- a da primeira metade do século XX. De algum modo,
ração e da construção representativa, assim como da na obra de Martins, essas imagens não apenas iconi-
reflexão, que acompanham o ato fotográfico, instru- zam, pela representação das ruínas, a modernidade e
mentos que, recursivamente, operam a sua reflexão o seu declínio, simultaneamente ao aparecimento “de
como sociólogo sobre a imagem e a cotidianidade do uma nova humanidade, juridicamente livre”, mas a
homem comum. comentam pela manutenção de uma forma específi-
No livro da Edusp, já referido, Martins expõe en- ca de discurso quanto à singularidade do olhar e do
saios fotográficos de sua autoria acompanhados de fotografar.
anotações em poemas, de três situações álibis para se Tal relação ainda é evidente nas fotografias colo-
pensar as emanações, ficcionais, das lidas com o co- ridas, que, ao final do livro, saturam de cores inten-
216 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 216 7/7/2009, 17:11
Resenhas
sivamente artificiais as superfícies de objetos e má- “aparentemente” é o empecilho que foi deslocado por
quinas arruinadas, de aspecto ferruginoso. A com- Theodor Adorno na sua busca por reconhecer, ler e
posição de algumas dessas fotos, assim como de seus interpretar a sociedade a partir de elementos como
títulos, alude às diversas tendências da arte abstrata, os citados.
que, no Brasil, estiveram em voga na década de 1950. As estrelas descem à Terra toma por tarefa a explici-
Plenamente operante na fotografia do período, os tação de fenômenos sociais a partir da leitura atenta,
princípios construtivos de uma arte não representa- no período de novembro de 1952 até fevereiro de
tiva grassaram por aqui, na esteira de Rodchenko ou 1953, da coluna de astrologia do Los Angeles Times es-
Lázló Moholy-Nagy, por exemplo, na obra, entre crita por Caroll Righter. Diferentemente das grandes
outros, de Geraldo de Barros, que Martins parece obras de arte, a questão não envolve as sutilezas de
emular pela cor. A cor ajuda a desfazer completa- análise da forma, em que “a referência ao social não
mente qualquer possibilidade de uso dessas imagens deve levar para fora da obra de arte, mas sim levar mais
como registros documentais, pois até mesmo a pátina fundo para dentro dela” (Notas de Literatura I). Em
desses objetos é alterada de modo a não permitir compensação, a astrologia só pode ser discutida a par-
qualquer outro comentário ou impressão que não tir da análise dialética que envolve os textos da coluna
aquele que os remeta à sua estranha aparição na pá- e a sociedade. Essa dialética está centrada, sobretudo,
gina branca do papel. Enaltecendo pela cor a pig- no sujeito configurado pela figura do leitor.
mentação das superfícies em corrosão, as últimas ima- O propósito do livro não é a astrologia em si,
gens presentes no livro de Souza Martins nomeiam- mas a “suscetibilidade” (p. 174) à qual estão sujeitas
se “pós-modernidades”, menos talvez porque as pessoas, ou seja, a astrologia é usada como “chave
testemunharam o ocaso da modernidade, mas por- para potencialidades sociais e psicológicas muito mais
que tomam por empréstimo, como apropriação ou abrangentes” (p. 174). A astrologia é vista como “sin-
arte combinatória, procedimentos de experimenta- toma” (p. 174) de tendências sociais específicas.
ção da imagem análogos aos de outros artistas que, Esse propósito implica, no decorrer do estudo,
outrora, agiram sob a égide daquela categoria. um procedimento de análise que lança mão, de um
lado, de conceitos ligados à psicanálise e à psiquia-
tria e, de outro, de conceitos sociológicos. Mas essas
Theodor W. Adorno, As estrelas descem à Terra – duas perspectivas aparecem dialeticamente relacio-
a coluna de astrologia do Los Angeles Times: um nadas por meio de um pensamento filosófico que
estudo sobre superstição secundária. Tradução reconhece nos indivíduos as questões sociais, tendo
Pedro Rocha de Oliveira. São Paulo, Editora da em vista no entanto que “a sociedade é feita daqueles
que ela abarca” (p. 175).
Unesp, 2008, 194 pp.
Dessa forma, o autor recorre em grande medida
Patrícia da Silva Santos à “abordagem bifásica” que, em psicologia, corres-
Mestranda em Sociologia pela USP ponde ao comportamento neurótico que oscila entre
extremos contraditórios, por exemplo, alguém que
O que poderia haver em comum nas previsões de age em relação a si mesmo por vezes como criança
horóscopo do Los Angeles Times da década de 1950, travessa, por outras como disciplinador severo. Para
na literatura de Franz Kafka e na música de Stravins- Adorno, a coluna utiliza-se desse instrumento de po-
ky? Aparentemente não há nada de substancioso que laridades para manter a dependência do leitor, ao tra-
possa atar coisas tão diferentes. Mas justamente esse balhar com uma imagem dele como sendo alguém
junho 2009 217
Vol21n1-d.pmd 217 7/7/2009, 17:11
Resenhas, pp. 209-218
frustrado e, ao mesmo tempo, passível de obter su- te socializado” (p. 32). Essa é uma das especificida-
cesso. Desse modo, a individualidade só é conquis- des bases da astrologia no período moderno e Ador-
tada a partir do sacrifício que o leitor faz de si mes- no procura sublinhar reiteradas vezes esse caráter em
mo em nome de uma crença arbitrária nos ditames seu esforço de articular o estudo da coluna com a
da coluna. Nesse sentido, a dependência, a semifor- interpretação dos processos sociais. Assim, a astrolo-
mação e outros elementos aparecem associados à gia moderna aparece pautada num “super-realismo”
suscitação de “disposições paranoicas” (p. 190), no (p. 36), que releva a “ordem do cotidiano” (p. 91),
interior das quais a astrologia aparece como um dos ordem essa, por sua vez, regulada pelo mundo do
sintomas da regressão social. A afirmação do sujeito trabalho e pelas configurações sociais e familiares
só ocorre mediante a sua negação diante das potên- modernas. Contraditoriamente, a astrologia está fun-
cias sociais (trabalho, família, relacionamentos etc.). dada nas bases arbitrárias da determinação dos astros
No âmbito estritamente sociológico, é interessan- sobre as vidas individuais, no entanto “esse mistério
te destacar a recorrência às observações ligadas às clas- não é mera ‘superstição’. Ele é a expressão negativa
ses sociais, à divisão sexual do trabalho dos leitores da organização do trabalho e, mais especificamente,
da coluna, bem como à manutenção dos sistemas de da organização da ciência” (p. 182).
autoridade por meio da exposição frequente da figu- Outra reflexão importante que Adorno retoma
ra do chefe (aos leitores, aconselha-se sempre a obe- no texto sobre a coluna de astrologia é a de “indús-
diência à hierarquia do trabalho). tria cultural”. A forma moderna do zodíaco sob a
O livro retoma conceitos centrais da filosofia concepção de “superstição secundária” depende dela,
adorniana de maneira bastante específica. Gostaria em grande medida. A coluna, assim como o cinema
de destacar dois desses desenvolvimentos um pou- e outras formas de indústria cultural, ajuda a manter
co mais detalhadamente. uma espécie de “normalidade” social pré-fabricada e
O primeiro é a retomada da concepção base da fundamentada na esfera da aparência, que impede o
Dialética do esclarecimento: o “entrelaçamento do mito indivíduo de chegar a uma reflexão autêntica e o
e do esclarecimento”. Tal concepção é pontuada em mantém estritamente nos limites da ideologia.
vários momentos na discussão sobre a coluna de as- Esses dois aspectos da discussão de Adorno fazem
trologia. A crença no zodíaco ilustra muito bem o da análise sobre a astrologia um estudo sociológico
fato de que “a irracionalidade não é necessariamente que articula a totalidade social a aspectos particulares.
uma força que opera em uma esfera externa à racio- Trata-se, assim como no caso das análises da literatu-
nalidade: ela pode resultar do transtorno de proces- ra ou da música (embora com procedimentos dife-
sos racionais de autoconservação” (p. 30). Desse rentes, ajustados às especificidades dos objetos), de
modo, a tensão entre progresso científico e a crença remover a esfera do “aparente” sustentada pela ideo-
na astrologia é mantida latente por conta do caráter logia com o intuito de melhor reconhecer a dialética
de “superstição secundária” adquirido por essa últi- dos mecanismos sociais.
ma em sua configuração moderna. Nesse sentido, a Por fim, ponto importante e relevante do livro é
análise da coluna de astrologia não tem relações com o seu desenvolvimento sob a forma do ensaio, arti-
o oculto (que seria a “superstição primária”), em sen- culando a observação empírica à análise especulativa,
tido individual e de expressões do inconsciente (como sob a égide da especificidade do pensamento ador-
a visão de fantasmas, ou a telepatia, exemplos utili- niano. No entanto, diferentemente de outros textos
zados por Adorno), mas, ao contrário, “o oculto apa- considerados mais herméticos, a leitura de As estrelas
rece, aqui, institucionalizado, objetivado e amplamen- descem à Terra flui de maneira particular devido à sua
218 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 218 7/7/2009, 17:11
Resenhas
escrita menos rebuscada e à argumentação pautada sal dos textos restantes, apesar de não contrabalançar
em exemplos. Embora essa característica em si mes- o salto qualitativo que poderia ter sido dado com a
ma não tenha relação determinante com a qualidade delimitação prévia de um objeto de pesquisa e de
do texto, ela é mais um incentivo à leitura para aque- uma metodologia de comparação baseada em parâ-
les que se esquivam do autor alegando a dificuldade metros equivalentes para os casos analisados.
da sua escrita. No caso do texto de Jefferson da Conceição, a uti-
lização desse instrumento seria imprescindível para
sustentar sua tese central. Ao desenvolver uma crítica
Iram Jácome Rodrigues & José Ricardo Ramalho ao argumento empresarial do “custo ABC”, esse autor
(orgs.), Trabalho e sindicato em antigos e novos se baseia na avaliação de dados do valor adicionado
territórios produtivos: comparações entre o ABC nas indústrias de autopeças, e conclui sobre o cresci-
paulista e o sul fluminense. São Paulo, Annablu- mento da lucratividade e produtividade no setor no
período estudado. Porém, ao não contrapor os dados
me, 2007, 364 pp.
apresentados com os de outras regiões, sua exposição
Davisson Charles Cangussu de Souza perde força explicativa. Ora, pode-se indagar se as
Doutorando em Sociologia pela FFLCH – USP “vantagens comparativas” que o mercado de produ-
ção e consumo brasileiro oferece em relação aos países
A coletânea analisa as transformações ocorridas capitalistas centrais (o que explica a fragilidade da
nas duas últimas décadas no trabalho, no sindicato e também difundida tese do “custo Brasil”) não seriam
nos “territórios produtivos” que abrigam os dois prin- ainda maiores nos “novos territórios”, a começar pela
cipais polos da indústria automotiva brasileira: o ABC ausência de tradição de luta sindical.
paulista, uma região tradicional no setor desde o fi- Um aspecto metodológico importante de ser des-
nal da década de 1950, e o sul fluminense, incluída tacado está presente no artigo de Cecília Pontes et
nessa cadeia produtiva nos anos de 1990. A origina- al., que resume os resultados da pesquisa comparati-
lidade do enfoque proposto e a diversidade temática va realizada pelos organizadores da coletânea. A par-
que apresenta torna sua leitura indispensável para os tir da aplicação de um survey junto a operários do
estudiosos das questões trabalhistas e sindicais no ABC e do sul fluminense, os autores concluem que,
Brasil, estimulando o debate acadêmico tanto entre a despeito de diferenças relevantes no perfil socioe-
os que se identificam com sua abordagem como en- conômico entre os trabalhadores das duas regiões, as
tre seus críticos. Sem a preocupação de abordar cada representações que estes fazem de suas condições de
um de seus treze artigos, teceremos alguns comentá- trabalho são bastante similares. O procedimento ado-
rios sobre determinados aspectos analíticos e meto- tado nesse trabalho revela uma concepção apriorística
dológicos que nos chamaram a atenção durante a lei- dos fatores que condicionam “o comportamento e as
tura de alguns textos. opiniões” dos operários, pautados exclusivamente em
O objetivo mais geral do livro é estabelecer com- critérios sociais e econômicos. Ademais, mesmo que
parações entre as duas regiões escolhidas. Porém, ao a própria pesquisa mostre não haver uma relação de
contrário do que o próprio título sugere, apenas três causa e efeito entre os aspectos escolhidos, não é rea-
artigos adotam esse procedimento, o que pode de- lizado um esforço analítico adicional a fim de verifi-
cepcionar o leitor que espera encontrar aí uma série car o que há de comum entre esses dois segmentos
de exercícios comparativos. Essa ausência pode ser que resulta em “atitudes operárias” tão semelhantes.
compensada parcialmente por uma leitura transver- Essa questão poderia ter sido aprofundada a partir
junho 2009 219
Vol21n1-d.pmd 219 7/7/2009, 17:11
Resenhas, pp. 209-218
de critérios metodológicos mais amplos na elabora- lúrgicos do ABC “tem mantido sua tradição históri-
ção do questionário ou por meio de entrevistas ca de defesa dos interesses dos trabalhadores” em seu
dirigidas semiestruturadas, em que se poderia explo- apoio à criação de cooperativas e à economia solidá-
rar elementos do plano político-ideológico e cultural. ria (p. 360).
A leitura que os autores fazem das transformações Em outros artigos, os autores opinam até mesmo
analisadas advém de um marco teórico situado em sobre o dever-fazer dos “atores”. Refletindo sobre a
uma determinada interpretação no campo da teoria participação do sindicato dos metalúrgicos nas estra-
da globalização. A ideia que os une, sintetizada no tex- tégias de desenvolvimento regional no ABC, Zeíra
to de apresentação dos organizadores, é a constatação Camargo afirma que os fóruns regionais “devem ser
de um movimento de reespacialização das fábricas, fortalecidos”, ou ainda que “os atores devem conti-
que tem alterado os antigos e instalado novos territó- nuar se qualificando para a elaboração e execução de
rios produtivos. Esse processo teria provocado o surgi- projetos regionais” (p. 136). Na avaliação do “papel
mento de estratégias baseadas em “arranjos institu- das redes sociopolíticas na promoção do desenvolvi-
cionais”, cujo pressuposto geral está na visão de que é mento regional” no sul fluminense, Rodrigo Santos
possível o “entendimento” entre os “agentes sociais” a destaca que a região ainda caminha para esse “ama-
respeito de políticas de desenvolvimento regional. durecimento”, mas que “espera-se que o sindicato dos
Esse mesmo debate tem dividido a CUT desde o metalúrgicos [...] assuma uma postura mais decidida
início dos anos de 1990 entre uma ala majoritária nessa construção” (p. 115).
defensora de uma prática mais “propositiva” e cor- Não encontramos nesses trabalhos argumentos
rentes minoritárias que defendem a continuidade do que validem as conclusões de seus autores. Sendo
modelo de ação “combativa” que caracterizou a cen- assim, o “juízo de valor” que emitem faz com que a
tral nos anos de 1980. Também na bibliografia po- ideologia política sindical perca seu caráter de objeto
demos encontrar argumentos “partidários” de cada de análise, reafirmando uma velha tradição nos estu-
um dos dois lados, nem sempre apresentados com a dos sobre sindicalismo no Brasil, em que a aborda-
devida argumentação crítica, apresentação de dados gem teórica dos autores se confunde com o posiciona-
empíricos e rigor teórico. Esse é o caso de alguns tex- mento político dos sindicatos analisados.
tos presentes nesta coletânea, nos quais a maneira
como determinados autores “tomam partido” os ex-
põe a certa fragilidade argumentativa, em que as ca-
tegorias analíticas são substituídas muitas vezes por
meras adjetivações elogiosas às práticas sindicais do
setor hegemônico cutista. Regina dos Reis, por exem-
plo, ao tratar dos mecanismos de “articulação políti-
ca regional”, desenvolvida no ABC ao longo dos anos
de 1990, com intensa participação dos sindicatos da
CUT, avalia-os como “iniciativas inovadoras”, ou
“experiências positivas”, que estariam “acima das di-
vergências político-partidárias e dos diferentes inte-
resses e tensões existentes entre as esferas do poder
público, privado e da sociedade civil” (p. 77). Nilson
Oda conclui em seu texto que o sindicato dos meta-
220 Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21, n. 1
Vol21n1-d.pmd 220 7/7/2009, 17:11
Você também pode gostar
- Biografia de Freud por RoudinescoDocumento14 páginasBiografia de Freud por RoudinescoRobertaAinda não há avaliações
- Prosa do mundo: Denis Diderot e a periferia do iluminismoNo EverandProsa do mundo: Denis Diderot e a periferia do iluminismoAinda não há avaliações
- Crítica do espetáculo: o pensamento radical de Guy DebordNo EverandCrítica do espetáculo: o pensamento radical de Guy DebordAinda não há avaliações
- Freud Totem e Tabu Uma IntroduçaoDocumento2 páginasFreud Totem e Tabu Uma IntroduçaoRoberto RrsouAinda não há avaliações
- Document PDFDocumento14 páginasDocument PDFTiê FelixAinda não há avaliações
- 677 1198 1 SMDocumento11 páginas677 1198 1 SMPaula NocquetAinda não há avaliações
- PROUSTDocumento8 páginasPROUSTIgor MelloAinda não há avaliações
- 40459-Texto Do Artigo-135986-1-10-20200121Documento12 páginas40459-Texto Do Artigo-135986-1-10-20200121André CardosoAinda não há avaliações
- Introdução a Xavier Zubiri: Pensar a realidadeNo EverandIntrodução a Xavier Zubiri: Pensar a realidadeAinda não há avaliações
- Curso de Autoficção (Anna Faedrich)Documento210 páginasCurso de Autoficção (Anna Faedrich)Anna Faedrich100% (6)
- Freud GoetheDocumento4 páginasFreud GoetheDeyve RedysonAinda não há avaliações
- O Pensamento COmplexo em Edga MorinDocumento25 páginasO Pensamento COmplexo em Edga Morinleoniomatos100% (2)
- A experiência interior: Seguida de Método de meditação e Postscriptum 1953No EverandA experiência interior: Seguida de Método de meditação e Postscriptum 1953Nota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Derrida, Um Filósofo DíficilDocumento29 páginasDerrida, Um Filósofo DíficilRafael MaiaAinda não há avaliações
- Georges Bataille: Filósofo francês do erotismo e transgressãoDocumento7 páginasGeorges Bataille: Filósofo francês do erotismo e transgressãoMOAinda não há avaliações
- Pense como Freud: Aforismos Selecionados e Grandes Questões do Pai da Psicologia ModernaNo EverandPense como Freud: Aforismos Selecionados e Grandes Questões do Pai da Psicologia ModernaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Seis Problemas para Dom Isidro Parodi - Duas Fantasias Memoráveis by Jorge Luis Borges Adolfo Bioy Casares PDFDocumento156 páginasSeis Problemas para Dom Isidro Parodi - Duas Fantasias Memoráveis by Jorge Luis Borges Adolfo Bioy Casares PDFJoão RonsiniAinda não há avaliações
- Psicologia das massas e análise do eu: Solidão e multidãoNo EverandPsicologia das massas e análise do eu: Solidão e multidãoAinda não há avaliações
- Entrevista (José Otávio Nogueira Guimarães2)Documento16 páginasEntrevista (José Otávio Nogueira Guimarães2)Tiago TalitaAinda não há avaliações
- TARDE Gabriel. Monadologia e SociologiaDocumento144 páginasTARDE Gabriel. Monadologia e SociologiaRafael Azevedo Lima100% (1)
- O Objeto Estético e A Desnaturalização Criativa Do Ser 2019Documento17 páginasO Objeto Estético e A Desnaturalização Criativa Do Ser 2019elixabete etxebesteAinda não há avaliações
- O Inventor: A Obra E A Vida De Franz Eduard Von Liszt [e-book]No EverandO Inventor: A Obra E A Vida De Franz Eduard Von Liszt [e-book]Ainda não há avaliações
- Resumo Carta A D Historia de Um Amor Colecao Portatil 13 Andre GorzDocumento3 páginasResumo Carta A D Historia de Um Amor Colecao Portatil 13 Andre GorzGuilhermeAinda não há avaliações
- Carta inédita de Heidegger sobre HolzwegeDocumento22 páginasCarta inédita de Heidegger sobre HolzwegeSergio NahatAinda não há avaliações
- Texto 1Documento4 páginasTexto 1josephjrs42Ainda não há avaliações
- Bibliografia Jean-Paul SartreDocumento12 páginasBibliografia Jean-Paul SartreMarco AntonioAinda não há avaliações
- Poesia e mito: Os textos que Freud baniu de "A interpretação dos sonhos"No EverandPoesia e mito: Os textos que Freud baniu de "A interpretação dos sonhos"Ainda não há avaliações
- Ensaio sobre The Dark Side of the Moon e a Filosofia: Uma interpretação filosófica da obra-prima do Pink FloydNo EverandEnsaio sobre The Dark Side of the Moon e a Filosofia: Uma interpretação filosófica da obra-prima do Pink FloydAinda não há avaliações
- 2016 Curso Difusao RousseauDocumento37 páginas2016 Curso Difusao RousseauElivelton César SanitáAinda não há avaliações
- Sobre Nietzsche: vontade de chance: Seguido de Memorandum; A risada de Nietzsche; Discussão sobre o pecado; Zaratustra e o encantamento do jogoNo EverandSobre Nietzsche: vontade de chance: Seguido de Memorandum; A risada de Nietzsche; Discussão sobre o pecado; Zaratustra e o encantamento do jogoAinda não há avaliações
- Biografia de Jean Paul SartreDocumento3 páginasBiografia de Jean Paul SartreMayana Lopes100% (1)
- Texto 01 Segunda Parte Sobre HumanismoDocumento7 páginasTexto 01 Segunda Parte Sobre HumanismoShawana FrançaAinda não há avaliações
- SARTREDocumento8 páginasSARTREkahramos100% (1)
- SartreDocumento9 páginasSartreFlávio AugustoAinda não há avaliações
- C v 3 Martin HeideggerDocumento2 páginasC v 3 Martin HeideggerSamuel GonçalvesAinda não há avaliações
- Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homensNo EverandDiscurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homensAinda não há avaliações
- Por uma insubordinação poéticaNo EverandPor uma insubordinação poéticaGuy GirardAinda não há avaliações
- Do contrato social ou princípios do direito políticoNo EverandDo contrato social ou princípios do direito políticoAinda não há avaliações
- Carta a D'Alembert sobre os espetáculos teatraisNo EverandCarta a D'Alembert sobre os espetáculos teatraisAinda não há avaliações
- A Escrita de Moisés e o Monoteísmo Como Gesto Político: Uma Leitura BenjaminianaDocumento17 páginasA Escrita de Moisés e o Monoteísmo Como Gesto Político: Uma Leitura BenjaminianaingridAinda não há avaliações
- 13 GirardDocumento12 páginas13 GirardzeramanducaiaAinda não há avaliações
- Deleuze e a vidaDocumento13 páginasDeleuze e a vidajoanareaispintoAinda não há avaliações
- Sartre, da liberdade à responsabilidadeDocumento6 páginasSartre, da liberdade à responsabilidademichellemakuch97Ainda não há avaliações
- Gide e a Reinvenção do RomanceDocumento12 páginasGide e a Reinvenção do RomanceDiegoAinda não há avaliações
- Curso Do Mário Ferreira Pitágoras e o Tema Do NúmeroDocumento6 páginasCurso Do Mário Ferreira Pitágoras e o Tema Do Númerohenrique100% (1)
- Derrida - Benoît Peeters - Livros Abertos PDFDocumento6 páginasDerrida - Benoît Peeters - Livros Abertos PDFnairAinda não há avaliações
- Análise Viário BR381Documento35 páginasAnálise Viário BR381Felipe OlliverAinda não há avaliações
- Reunião mensal da Colônia Alvorada NovaDocumento96 páginasReunião mensal da Colônia Alvorada Novacrcornacchione_69540Ainda não há avaliações
- COMUNICADO - Ensino Médio - Informações Sobre As Avaliações P3 Do Primeiro Trimestre e SIMULADO BERNOULLI (Específico para A Turma 301)Documento2 páginasCOMUNICADO - Ensino Médio - Informações Sobre As Avaliações P3 Do Primeiro Trimestre e SIMULADO BERNOULLI (Específico para A Turma 301)CronosAinda não há avaliações
- SUZUKI, J. C. Campo e Cidade No Brasil Transformações Socioespaciais e Dificuldades de Conceituação. Revista NERA (UNESP), V. 10, P. 134-150, 2007.Documento15 páginasSUZUKI, J. C. Campo e Cidade No Brasil Transformações Socioespaciais e Dificuldades de Conceituação. Revista NERA (UNESP), V. 10, P. 134-150, 2007.Ykaro FelipheAinda não há avaliações
- Plano Diretor AtualDocumento54 páginasPlano Diretor AtualWillian NovaesAinda não há avaliações
- Operações de Separação Sólido-LíquidoDocumento38 páginasOperações de Separação Sólido-LíquidoVictória BermúdezAinda não há avaliações
- Procedimentos Que Todo Médico Deveria SaberDocumento485 páginasProcedimentos Que Todo Médico Deveria SaberRayllane Santos NunesAinda não há avaliações
- A Escrita Da História - Peter BurkeDocumento2 páginasA Escrita Da História - Peter BurkeNatália CorrêaAinda não há avaliações
- Apostila de MatemáticaDocumento10 páginasApostila de MatemáticaJosineide AndradeAinda não há avaliações
- RUÍDO NO AMBIENTE DE TRABALHODocumento6 páginasRUÍDO NO AMBIENTE DE TRABALHOrodri23Ainda não há avaliações
- Beneficios Da Acupuntura Na Terceira IdadeDocumento15 páginasBeneficios Da Acupuntura Na Terceira IdadeNilton BragaAinda não há avaliações
- Ae cn6 Teste Avaliacao 3Documento7 páginasAe cn6 Teste Avaliacao 3Bruna Alexandra MartinsAinda não há avaliações
- Engenharia Civil - HidrologiaDocumento55 páginasEngenharia Civil - Hidrologialuka samAinda não há avaliações
- Relatório 1 - RecristalizaçãoDocumento9 páginasRelatório 1 - RecristalizaçãoAlexander JuniorAinda não há avaliações
- Ajustes nas matrizes curriculares do ensino médio para 2023Documento2 páginasAjustes nas matrizes curriculares do ensino médio para 2023THAIS SABATINO MONTEIRO FERNANDES DE CASTROAinda não há avaliações
- Maç... - A Quarta Coluna - Sociabilidades e Espaços de Pertencimento Na MaçonariaDocumento167 páginasMaç... - A Quarta Coluna - Sociabilidades e Espaços de Pertencimento Na MaçonariaMarcelo SurlemontAinda não há avaliações
- Recursos HidricosDocumento2 páginasRecursos HidricosLucideia Alonso0% (1)
- A Cidade & A Criança - Conselho Técnico Da Escola Da Cidade PDFDocumento6 páginasA Cidade & A Criança - Conselho Técnico Da Escola Da Cidade PDFAnelise Pigatto RigonAinda não há avaliações
- O Conceito de Região em Três Registros. Exemplificando Com o Nordeste BrasileiroDocumento11 páginasO Conceito de Região em Três Registros. Exemplificando Com o Nordeste Brasileirocelio soaresAinda não há avaliações
- Prevenindo A AcneDocumento31 páginasPrevenindo A AcneReimer RochaAinda não há avaliações
- Apostila 14 CAD Conceitos BasicosDocumento4 páginasApostila 14 CAD Conceitos BasicosJardel JuniorAinda não há avaliações
- Conceitos básicos de Eletrônica Digital: sistemas de numeração, álgebra Booleana e portas lógicasDocumento56 páginasConceitos básicos de Eletrônica Digital: sistemas de numeração, álgebra Booleana e portas lógicasValter SilvaAinda não há avaliações
- IFRN Protecao TransformadorDocumento37 páginasIFRN Protecao TransformadorTiago MartinsAinda não há avaliações
- O Que Nos Diz A Arte Kaxinawa Sobre A Relação Entre Identidade e AlteridadeDocumento27 páginasO Que Nos Diz A Arte Kaxinawa Sobre A Relação Entre Identidade e AlteridadeJulia BroguetAinda não há avaliações
- PEDAGOGIA INTEGRADA MatériaDocumento18 páginasPEDAGOGIA INTEGRADA MatériaMilenaAinda não há avaliações
- Comprovante ViniciusDocumento1 páginaComprovante Viniciusrayla23560% (1)
- Relatório Gerador de Van Der GraffDocumento7 páginasRelatório Gerador de Van Der GraffBrenda CamposAinda não há avaliações
- Adesao RenainfDocumento2 páginasAdesao RenainfRodrigo VerissimoAinda não há avaliações
- Deficiência MúltiplaDocumento8 páginasDeficiência MúltiplaLeandroAinda não há avaliações
- A Psicologia Da Educação e Seus Elementos Essenciais - AtivDocumento7 páginasA Psicologia Da Educação e Seus Elementos Essenciais - AtivPatrice HellenAinda não há avaliações












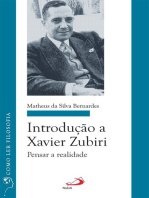

















![O Inventor: A Obra E A Vida De Franz Eduard Von Liszt [e-book]](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/641966482/149x198/74e87e4386/1682943664?v=1)