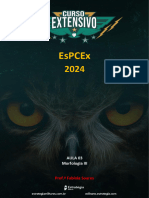Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Os Universitários de Palmo e Meio - Jul 2006
Enviado por
anon-169093Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Os Universitários de Palmo e Meio - Jul 2006
Enviado por
anon-169093Direitos autorais:
Formatos disponíveis
“Os universitários de palmo e meio”
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
Orientação: Mestre Paula Malta
Mariana Fonseca da Silva Delgado, Nº Mec. – 21019
Julho 2006
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
ii
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
"Childhood has its own way of seeing, thinking and feeling
and nothing is more foolish than to try to substitute
ours for theirs."
Jean Jacques Rousseau
iii
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
iv
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Agradecimentos
A autora agradece o apoio da Universidade de Aveiro, destacando a colaboração
do Departamento de Matemática
dos Serviços de Relações Externas
da Fábrica da Ciência e Tecnologia
do Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa
e
da Equipa 3810-UA
Um especial agradecimento para todos os que me ajudaram e incentivaram:
Dr.Amaral Esteves, Prof.Dr. Batel Anjo, Drª Isabel Figueiredo, Dr. João Oliveira, João
Raposo, Dr.João Ribeiro, Prof. Dr. João Vieira, Prof. Dr. José Alberto Rafael, Dr.José
Anjos e José Sousa.
Pela orientação e apoio neste projecto, o meu reconhecimento à Mestre Paula Malta, que
marcou o meu percurso de estudante de turismo na Universidade de Aveiro.
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
vi
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Índice Geral
Introdução................................................................................................................................. 3
Metodologia .............................................................................................................................. 7
Capítulo 1: As crianças e o tempo da infância ...........................................................13
1.1 – As (im) possíveis definições…....................................................................................... 15
1.2 – As suas necessidades, apetências e motivações ......................................................... 21
1.3 – Educação, novas formas e agentes .............................................................................. 29
Capítulo 2: A convergência entre lazer, turismo e educação .....................................39
2.1 - Lazer: “a querela das definições” .................................................................................. 41
2.2 - O turismo e as suas tendências actuais......................................................................... 49
2.3 – Turismo educacional: conceitos e perspectivas ............................................................ 59
2.4 - As universidades: desde sempre destinos turísticos educacionais................................ 67
Capítulo 3: Pontes para os novos mundos da aprendizagem ....................................73
3.1 – Universidade de Aveiro: “Regresso ao Futuro” ............................................................. 75
3.2 - Quando a U.A. abre as portas às crianças..................................................................... 87
3.2.1 Projecto PmatE .........................................................................................................................94
3.2.2 Semana da Ciência e Tecnologia .............................................................................................98
3.2.3 Fábrica da Ciência ..................................................................................................................101
3.2.4 Visitas Guiadas e Outras Actividades.....................................................................................104
Conclusões............................................................................................................... 107
Anexos ..................................................................................................................... 115
Referências .............................................................................................................. 157
vii
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
viii
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Índice de Figuras e Quadros
Diagrama 1: Modelo de referência........................................................................................................................... 7
Diagrama 2: Evolução histórica do lazer................................................................................................................ 42
Diagrama 3: Modelo STEEP - Tourism of Tomorrow, European Tourism Research Institute................................ 54
Diagrama 4: Turismo educacional, Canada Tourism Commission (2001: 11) ....................................................... 61
Diagrama 5: Plano Geral: relações interdepartamentais, Amorim (2001: 41) ........................................................ 80
Diagrama 6: Estrutura orgânica central da UA, SR (2005) .................................................................................... 82
Diagrama 7: Tipologia de oferta de actividades da UA .......................................................................................... 87
Gráfico 1: UA - Volume total da participação por iniciativa .................................................................................... 89
Gráfico 2: UA - Evolução anual da participação total............................................................................................. 90
Gráfico 3: UA - Evolução anual da participação por iniciativa................................................................................ 90
Gráfico 4: UA - Distribuição da participação total por segmento............................................................................ 92
Gráfico 5: UA - Distribuição do segmento escolar por grupo etário ....................................................................... 93
Gráfico 6: PmatE - Evolução anual da participação............................................................................................... 94
Gráfico 7: PmatE - Evolução anual da participação do EQUAmat, mat12 e MINImat ........................................... 95
Gráfico 8: PmatE - Distribuição do segmento escolar por grupo etário ................................................................. 95
Gráfico 9: PmatE - Evolução anual da participação por Nut II ............................................................................... 97
Gráfico 10: Semana da Ciência e Tecnologia - Evolução anual da participação ................................................... 98
Gráfico 11: Semana da Ciência e Tecnologia - Distribuição da participação por segmento.................................. 99
Gráfico 12: Semana da Ciência e Tecnologia - Distribuição do segmento escolar por grupo etário...................... 99
Gráfico 13: Fábrica da Ciência - Evolução anual da participação........................................................................ 101
Gráfico 14: Fábrica da Ciência - Distribuição da participação por segmento....................................................... 102
Gráfico 15: Fábrica da Ciência - Distribuição do segmento escolar por grupo etário .......................................... 102
Gráfico 16: Visitas Guiadas - Evolução anual da participação............................................................................. 104
Gráfico 17: Visitas Guiadas - Distribuição da participação por segmento............................................................ 104
Gráfico 18: Visitas Guiadas - Distribuição do segmento escolar por grupo etário ............................................... 105
Gráfico 19: Outras Actividades - Evolução anual da participação........................................................................ 106
Mapa 1: UA - Distribuição da participação por origem (NUT III) ............................................................................ 93
Mapa 2: PmatE - Distribuição e evolução anual da participação por origem (NUT II) ........................................... 96
Mapa 3: PmatE - Distribuição da participação por origem (NUT III) ...................................................................... 97
Mapa 4: Semana da Ciência e Tecnologia – Distribuição da participação por origem (NUT III).......................... 100
Tabela 1: Ocupação do tempo nas vidas dos indivíduos, Adaptado da O.M.T., 1983: 12-14................................ 44
Tabela 2: Comportamento dos turistas ocidentais (Poon, 2001, citado por Nordin, 2005: 47) .............................. 55
Tabela 3: Previsões para os pincipais segmentos do mercado turístico (OMT; Cabrini, 2005:20) ........................ 55
Tabela 4: Tipologia da natureza de actividades..................................................................................................... 88
Tabela 5: Participação total por segmento e grupo etário...................................................................................... 91
ix
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Introdução e Metodologia
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Introdução
Este relatório documenta o trabalho desenvolvido no Projecto Final de Curso, enquadrado
no plano curricular do 5º ano da Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo, da
Universidade de Aveiro.
Neste trabalho estudou-se o segmento infantil na perspectiva do turismo educacional
associado à oferta de actividades de educação e lazer promovidas pela Universidade de
Aveiro.
Na investigação científica em turismo, como em muitas outras áreas de estudo, o papel
social e económico desempenhado pelas crianças tem vindo a ganhar crescente
importância. Neste contexto, algumas organizações internacionais têm vindo a clarificar e a
delimitar este segmento, tendo recentemente a Organização Mundial de Saúde estabelecido
a infância como o grupo etário entre os zero e os dezoito anos.
Apesar de não deter capacidade e autonomia de consumo directo, este segmento está a
evidenciar uma cada vez maior influência nas decisões da família sobre o consumo de
actividades turísticas e de lazer. Esta influência tem vindo a ser associada à evolução na
estrutura e comportamento das famílias, às maiores pressões sobre o tempo livre, à
aguerrida competição profissional, às mudanças culturais, demográficas e sociais e ainda, à
crescente instabilidade e insegurança globais.
A crise actual das instituições escolares e dos métodos educativos tem conduzido à
necessidade de integrar elementos atractivos associados ao lazer no sistema educacional.
Esta tendência, complementada com a perspectiva da educação formal e informal como
pilar fundamental para o desenvolvimento dos indivíduos e das sociedades, tem originado
um crescimento acentuado das actividades de turismo educacional e do segmento escolar
do turismo.
Considerando a crescente importância das actividades de educação e de lazer, integradas
nas práticas pedagógicas das escolas e na ocupação dos tempos livres das crianças, quer
nos períodos em que as famílias se ausentam dos seus ambientes habituais e considerando
ainda a natureza e objectivo deste Projecto Final de Curso, seleccionou-se o caso de estudo
da Universidade de Aveiro, pela ampla e publicamente reconhecida promoção e oferta de
actividades de educação e lazer para a infância. Esta selecção baseou-se também na
perspectiva de estudar a UA como pólo de atracção para este segmento de turismo local e
interno, tanto por motivos educacionais como por motivos de lazer.
3
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
O relatório foi estruturado em três capítulos, enquadrando o estudo e a fundamentação
teórica nos dois primeiros capítulos e dedicando o terceiro capítulo à apresentação e análise
do caso de estudo. O relatório contempla ainda um conjunto de conclusões onde se
evidenciaram os resultados relevantes da pesquisa teórica e se elaborou uma perspectiva
crítica do caso de estudo, à luz do enquadramento teórico desenvolvido.
Assim no primeiro capítulo abordou-se a caracterização da infância procurando respostas
para algumas questões relevantes para este Projecto: O que é a criança e a infância? Quais
os direitos que a sociedade lhe reconhece? Qual tem sido o seu papel na sociedade?
Neste capítulo, investigando as necessidades, apetências e motivações das crianças,
procuraram-se respostas através da interpretação dos diversos estádios da infância e da
sua cultura própria, no contexto da civilização ocidental. Foi desenvolvida uma abordagem
às questões da educação formal e institucional, que se complementou com uma perspectiva
contemporânea para novos modos e agentes da educação, inspirada na visão expressa
pela Unesco (1996) no relatório “Learning: the treasure within”.
No segundo capítulo, começou por analisar-se o conceito de lazer recorrendo a diversas
correntes académicas e procurando respostas para: O que é o lazer? Qual a sua
importância no contexto da civilização moderna ocidental? Quais as perspectivas de
integração do lazer na educação?
Recorrendo à bibliografia relevante, prosseguiu-se com a caracterização de turismo, com
base numa multiplicidade de perspectivas históricas, sociais, económicas, culturais, políticas
e antropológicas. A caracterização de turismo foi complementada com a identificação das
tendências marcantes para o turismo contemporâneo, tendo em conta as condições da
sociedade ocidental.
Os caminhos da investigação teórica conduziram-nos à intersecção alvo do estudo, a área
do turismo educacional. Procurou-se descrever o percurso histórico da motivação humana
pela aprendizagem e pela educação e o seu impacto nas viagens e no turismo desde a
Antiguidade até hoje, tentando responder a algumas questões fundamentais como: O que é
turismo educacional? Quais os seus modos e expressões significativas e diferenciadoras?
Quais as perspectivas de desenvolvimento para este segmento turístico?
Em sequência e como ligação ao caso de estudo seleccionado, foram estudadas as raízes
fundacionais das universidades, buscando sinais destes centros de educação superior como
4
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
grandes pólos de atracção e destinos de viajantes, em busca de educação e do
conhecimento.
Nesta etapa do trabalho teórico, confirmou-se a convergência entre as áreas do lazer, do
turismo e da educação. Confirmou-se também que os novos modos, lúdicos e interactivos,
para a educação são vectores relevantes da trajectória contemporânea do turismo e que o
segmento do turismo educacional, na sociedade contemporânea, revela o reencontro com
ancestrais motivações para viajar.
No terceiro capítulo deste trabalho fez-se uma apresentação da Universidade de Aveiro,
identificando, na sua história, os traços distintivos da sua identidade e apresentando os
dados associados às iniciativas de educação e lazer especialmente concebidas e oferecidas
pela UA para as crianças.
Incluiu-se neste capítulo a análise estatística que permitiu caracterizar a efectiva adesão das
crianças às actividades promovidas pela UA, identificando o número de crianças que
participaram nas múltiplas iniciativas e a sua distribuição pelos quatro grupos etários
associados ao pré-escolar, 1º ciclo, 2º e 3º ciclos, e secundário, bem como a evolução desta
participação ao longo dos cinco anos em análise (2001-2005). Foi ainda possível
caracterizar estatisticamente a natureza da visita, identificando o peso da participação das
crianças integradas em visitas escolares, visitas familiares e visitas independentes.
O relatório contempla ainda um conjunto de nove Anexos que documentam o caso de
estudo.
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Metodologia
A abordagem ao tema deste Projecto Final de Curso foi sendo delineada, ao longo de um
processo exploratório das questões relacionadas com a infância, com o turismo e com o
caso de estudo seleccionado, as actividades de educação e lazer promovidas pela
Universidade de Aveiro para as crianças, dos zero aos dezoito anos (0-18 anos), ao longo
do quinquénio 2001-2005.
Adoptou-se uma metodologia aberta, procurando ajustar as sucessivas etapas do
desenvolvimento aos sucessivos patamares de consolidação da abordagem teórica e da
informação recolhida sobre o caso de estudo, tendo sido cada fase desenhada com base
nas reflexões consolidadas na fase anterior.
turismo
educacional
Universidade
de Aveiro
Diagrama 1: Modelo de referência
Baseado nas orientações da Mestre Paula Malta,
Fevereiro, 2006
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Conforme evidencia o modelo de referência, adoptado como guia para a elaboração deste
trabalho, subscreveu-se uma perspectiva transdisciplinar no estudo e na fundamentação
teórica, procurando no entanto manter a orientação imposta pelo público-alvo, as crianças, a
perspectiva de análise da área do turismo e a focagem na natureza do caso de estudo.
Esta metodologia, representando alguns riscos associados à abrangência do quadro de
análise e ao esforço contínuo de alinhamento e focagem, permitiu uma estimulante reflexão
sistemática e disciplinada por etapas que, no âmbito de uma abordagem alargada dos
temas teóricos, obrigou à rigorosa selecção das áreas de aprofundamento relevantes.
A progressiva observação e análise da informação real sobre os dados e a informação
associada ao caso de estudo, complementada com a orientação da Mestre Paula Malta
contribuíram para orientar e disciplinar a reflexão e a selecção.
A inspiração para a consolidação deste projecto foi encontrada pela conjugação da visão
teórica compreendida e pela evidência da realidade progressivamente encontrada no caso
estudo.
Numa primeira etapa do processo foi feita uma recolha da bibliografia e de artigos científicos
associadas a diferentes áreas teóricas, procurando estudar de um modo abrangente as
contribuições oriundas das áreas da sociologia, da psicologia, da pedagogia, da história e do
turismo, para uma visão pluridisciplinar do público-alvo e do turismo educacional.
Simultaneamente foi feita a primeira abordagem às actividades oferecidas pela UA às
crianças, fazendo o primeiro levantamento de informação sobre a sua natureza, os seus
promotores e a tipologia de dados registados.
É nesta fase que se fazem os primeiros contactos e o primeiro levantamento da informação
na UA, mais especificamente contactando com o Serviço de Relações Externas, com o
Departamento de Matemática, com a Fábrica da Ciência e Tecnologia, com o CIFOP e com
o Departamento de Comunicação e Arte.
Esta primeira etapa permitiu consolidar conceitos sobre a especificidade do segmento
infantil e do seu papel social, estabelecendo algumas conclusões sobre a sua
caracterização e a sua cultura, sobre as suas motivações e necessidades e ainda
perspectivando novos modos e agentes da educação.
Nesta etapa e com base no trabalho de campo, identificaram-se e fez-se o levantamento
das actividades para crianças oferecidas pela UA e consolidou-se um formato de dados e
uma classificação do público infantil a adoptar neste estudo.
8
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Numa segunda etapa foi desenvolvida a abordagem teórica do lazer, das actuais tendências
do turismo, e das motivações e comportamento dos turistas, recorrendo à bibliografia e a
publicações relevantes nestas áreas.
Ainda com base na pesquisa teórica desenvolveu-se uma perspectiva da evolução do
turismo e partindo das mais antigas motivações dos viajantes, caracterizou-se o turismo
educacional e identificaram-se as suas expressões e perspectivas de desenvolvimento.
Recorrendo à perspectiva histórica da educação e das universidades, identificou-se a
educação como uma das mais antigas motivações para viajar e as universidades como
ancestrais pólos de atracção de viajantes em busca de conhecimento.
Durante esta fase consolidou-se e completou-se a recolha de dados de participação do
público infantil nas diversas actividades promovidas pela UA e fez-se o levantamento dos
registos associados ao número de crianças participantes e à sua classificação, quanto ao
grupo etário, à natureza da visita e à origem geográfica.
Finalmente na terceira etapa, dedicada à apresentação e análise do caso de estudo, foi
delineada uma caracterização da UA procurando identificar os factores distintivos da cultura
e da natureza desta instituição, de algum modo justificando e favorecendo o seu
compromisso e sensibilidade com o público infantil.
Procedeu-se nesta fase à análise detalhada do caso de estudo, à organização da
informação e à preparação das bases de dados. Foi feito uma descrição das actividades
promovidas pela UA, associadas às iniciativas mais relevantes: o PmatE, a Semana Aberta
da Ciência e da Tecnologia, a Fábrica da Ciência Viva, as Visitas Guiadas à UA e ainda um
vasto conjunto de outras actividades, que pela variedade e natureza de dados foram
tratadas como um grupo de Actividades Não Regulares.
Todos os gráficos e apresentações cartográficas (mapas) foram produzidos, com base em
Microsoft Office Excel 2003 e em Mapex respectivamente. Estas aplicações são ferramentas
computacionais correntemente utilizadas para a produção de gráficos de representação
estatística e de mapas de referenciação de dados à geografia nacional, às NUTs II e às
NUTs III.
As dificuldades encontradas na aplicação desta metodologia assumiram diversas naturezas.
A abordagem teórica foi arriscada pela sua abrangência. Por um lado, o público-alvo
escolhido, as crianças, sendo normalmente pouco considerado como segmento de
consumo, exigiu uma abordagem teórica mais profunda quanto à sua natureza e
motivações. Por outro lado, o segmento do turismo educacional, com limitado peso no
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
mercado turístico, ainda se apresenta como um alargado campo para estudo e investigação.
Nestas áreas a pesquisa e a revisão teórica encontraram algumas limitações.
As dificuldades encontradas no caso de estudo resultaram de dois factores:
a grande diversidade de actividades de educação e lazer oferecidas pela
Universidade de Aveiro, que obrigou à concentração da análise mais detalhada em
três grandes iniciativas: PmatE, a Semana Aberta da Ciência e da Tecnologia e a
Fábrica da Ciência Viva.
a tipologia e natureza dos registos associados a estas actividades, que quantificando
apenas a efectiva participação das crianças, com base em múltiplos formatos e
diversas classificações exigiu uma delimitação na tipologia de dados a recolher para
este estudo, de modo a garantir-se uma dimensão adequada ao tratamento
estatístico.
Apesar da limitação no formato adoptado, não foi possível ter acesso aos dados de
participação nas Visitas Guiadas à UA durante os anos 2002 e 2003. A origem geográfica
das crianças que participam nas actividades da UA, associada aos concelhos da sua
residência, foi um dos dados mais complexos de coligir, dado que, normalmente, era apenas
registada a designação da escola de origem. Adicionalmente carecem de normalização e
regularidade os registos da Semana Aberta da Ciência e da Tecnologia, das visitas Guiadas
e de um conjunto de Actividades Não Regulares, associados aos anos 2001, 2002 e 2003.
A base de dados dos registos de participação das crianças e da sua origem geográfica
foram integradas neste trabalho como Anexos 2 e 3.
A informação compilada sobre as actividades mais recentemente oferecidas pela UA e a
síntese da pesquisa histórica sobre o PmatE, constituem os Anexos 4, 5, 6 e 7.
Dada a grande diversidade de actividades de educação e lazer para crianças, objecto deste
levantamento e considerando a sua natureza eminentemente lúdica e interactiva,
complementou-se a sua descrição com dois DVDs, baseados em reportagens realizadas
para o programa de televisão 3810 UA e incluídos neste trabalho como Anexos 8 e 9.
O primeiro DVD que é uma edição dos Serviços de Relações Externas da Universidade de
Aveiro, corresponde a uma edição especial do programa de televisão 3810 UA, e contempla
os registos de um conjunto de actividades, organizadas pela UA em Novembro de 2004,
integradas na Semana Aberta da Ciência e da Tecnologia.
10
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
O segundo DVD, elaborado com o apoio de João Oliveira, responsável técnico do programa
3810 UA, é da responsabilidade da autora e contém uma compilação dos registos de
actividades associadas ao PmatE, à Prática Pedagógica organizada pelo Departamento de
Didática e Tecnologia Educativa, à Fábrica da Ciência, às actividades do Departamento de
Comunicação e Arte e de outras estruturas da UA.
11
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
12
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Capítulo 1: As crianças e o tempo da infância
13
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
14
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
1.1 – As (im) possíveis definições…
Sendo o objecto central deste trabalho a análise da oferta da Universidade de Aveiro no que
concerne às actividades de lazer, turismo e educação, direccionadas para o segmento
infantil (dos zero aos dezoito anos), importa começar por caracterizar e delimitar este grupo.
Dada a importância deste segmento etário, pelo que ele comporta de carga humana,
afectiva e de responsabilidade social, procurou garantir-se uma visão alargada e
multifacetada, inspirada e o mais possível fundamentada nos conceitos das organizações
mundiais de referência, complementada pelas perspectivas teórico-práticas da psicologia
clássica, da pedagogia e da sociologia.
Desta forma, tentar-se-á formular as respostas para algumas questões principais: 1. O que é
a criança e a infância? 2. Quais os direitos que a sociedade lhe reconhece? 3. Qual tem sido
o seu papel na sociedade?
Não existindo definições exactas e/ou universais, o desafio da caracterização da criança
apresenta grandes dificuldades teóricas, quer pela temática em si própria quer pela
diversidade de perspectivas que abordam não só a sua natureza e a sua identidade
antropológica e social, mas também os seus múltiplos estádios de desenvolvimento e as
questões, ainda mais prementes, sobre como a família, a escola, os governos e a sociedade
em geral consideram as crianças e as respeitam como actores da vida social
contemporânea.
A Convenção sobre os Direitos da Criança, adoptada pela Assembleia Geral das Nações
Unidas em 20 de Novembro de 1989 e ratificada por Portugal em 21 de Setembro de 1990,
estabelece que:
“Considerando que, em conformidade com os princípios proclamados pela Carta das Nações Unidas, o
reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais
e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo”.
“Recordando que, na Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Organização das Nações Unidas
proclama que a infância tem direito a uma ajuda e assistência especiais”.
“Reconhecendo que a criança, para o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade, deve crescer
num ambiente familiar, em clima de felicidade, amor e compreensão”.
“Considerando que importa preparar plenamente a criança para viver uma vida individual na sociedade
e ser educada no espírito dos ideais proclamados na Carta da Nações Unidas e, em particular, num
espírito de paz, dignidade, tolerância, liberdade e solidariedade”.
15
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
“Artigo 1: Nos termos da presente convenção, criança é todo o ser humano com menos de dezoito anos,
salvo se, nos termos da lei que lhe for aplicável, atingir a maioridade mais cedo”.
“Artigo 12: Os Estados Partes garantem à criança com capacidade de discernimento o direito de
exprimir livremente a sua opinião sobre questões que lhe respeitem, sendo devidamente tomadas em
consideração as opiniões da criança, de acordo com a sua idade e maturidade”.
“Artigo 31: 1 – Os Estados Partes reconhecem à criança o direito ao repouso e aos tempos livres, o
direito de participar em jogos e actividades recreativas próprias da sua idade e de participar livremente
na vida cultural e artística. 2 – Os Estados Partes respeitam e promovem o direito da Criança de
participar plenamente na vida cultural e artística e encorajam a organização, em seu benefício, de
formas adequadas de tempos livres e de actividades recreativas, artísticas e culturais em condições de
igualdade”.
Os princípios declarados na Convenção e os compromissos assumidos pelas nações são,
no entanto, metas que a humanidade está longe de alcançar e que se apresentam aos
governantes, famílias e pedagogos mais como adequadas retóricas e convenientes
declarações de princípio do que inspiração para melhores práticas.
A criança foi vista, até há poucos anos, “como um tipo de representação em miniatura dos
adultos e assim, para tirar algum tipo de conclusões sobre ela, bastaria ficar pelos
conhecimentos sobre os adultos, tendo o cuidado de definir uma proporção entre estes e a
estrutura da criança”1.
Segundo Jens Qvortrup (1999: 12), as crianças não deveriam ser vistas como algo estranho
à sociedade, como algo misterioso, como se fossem espécies ontologicamente diferentes.
As crianças são seres humanos e não meros seres em potência. Não podem ser vistas
como “pessoas que serão” e que devem ser integradas na sociedade. A infância é, então,
parte integrante da sociedade.
Historicamente, foi longo o percurso “até a sociedade começar a valorizar a infância”
(Delgado, 2003: 1). Esta autora faz um conjunto de reflexões acerca do aparecimento do
conceito de infância, argumentando que, apesar dos inúmeros estudos sobre a infância, “o
sentimento de infância, da preocupação e investimento da sociedade e dos adultos nas
crianças, de criar formas de regulação da infância e da família são ideias que surgem com a
modernidade” (Delgado, 2003: 1). O sociólogo Manuel Sarmento (1993; 2002), sublinha já
1
Foram os pedagogos que, como seria de prever, devido ao seu contacto prolongado com a criança, chamaram primeiramente
a atenção para a originalidade da psicologia infantil: citemos por exemplo, a autora italiana Montessorini, o belga Decroly ou o
americano Dewey. Os trabalhos dos médicos, Wallon, dos psicólogos Binet, Claparèd, Gusell e dos psicanalistas Klein e Anne
Freud, deram à psicologia da criança as suas bases científicas, mas não foi senão com o suíço Piaget que surgiu uma
psicologia infantil ‘pura’, oriunda das disciplinas e afins no seu objecto e nos seus métodos, fundada numa observação atenta e
numa experimentação rigorosa, in Dicionário da Psicologia (s/d).
16
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
este facto ao referir que os “estudiosos da sociologia da infância têm afirmado que a infância
enquanto categoria social é uma ideia moderna”.
Na prática e biologicamente falando, é muito simples e imediata a representação das
crianças mas, “nem todas vivem a infância da mesma forma” no que diz respeito às
condições sociais, culturais e económicas. Matthews e Limb (1999: 65) consideram
fundamental, no início de qualquer investigação sobre as crianças, enfatizar o pressuposto
de que não existe nem uma coisa como “a criança” nem “a infância” como categoria social
uniformizada, devendo reconhecer-se o perigo de uma conceptualização homogeneizada
daquilo que é um grupo social muito diversificado. Na verdade as crianças “vêm” em todas
as formas e tamanhos e podem ser distinguidas segundo vários vectores como o género,
raça, etnia, capacidades, saúde e idade. Actualmente, ainda se pensa nelas “como os reis
ou como as vítimas” sem nunca se procurar de facto percebê-las e ouvi-las, tanto acerca do
que são como acerca do que querem e de como vêm o seu lugar no mundo.
A autora reforça esta questão afirmando que “tornamo-nos adultos e adultas, mas
esquecemos que nesse processo enclausuramos os nossos imaginários. O sentimento de
realidade constrange a capacidade dos adultos perceberem as crianças como elas são e
estão em interacção com os seus pares e adultos no mundo” (Delgado, 2003: 5). Os
profissionais de áreas relacionadas com a criança acabam muitas vezes por ser
constrangidos pelas imagens de carinho, inocência, pureza e graça ou numa outra linha,
pelas imagens das crianças como adultos em potência, aqueles que ainda virão a ser e que
apenas precisam ser orientados e educados pelos adultos.
Continuando a análise, Delgado (2003: 6) diz que é “provável que elas (as crianças) saibam
bem mais sobre os adultos/as e sobre as instituições que ajudamos a construir“. De facto,
não tem havido a preocupação em dar voz própria às gentes de palmo e meio, “ainda não
parámos para as escutar” e tentar perceber as suas ideias acerca dos adultos, das escolas
que estes criaram para as crianças e daquelas que os adultos pensam ser as suas maiores
necessidades.
“Temos igualmente percebido que as nossas conceptualizações sobre a infância estão
submersas em visões de adultos que viveram as suas infâncias noutros tempos e noutros
espaços, principalmente quando trabalhamos com a imaginação e a realidade de forma a
superar as dualidades culturais” (Delgado, 2003: 6).
17
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Holloway e Valentine (2000: 2) afirmam que as crianças são, em geral, vistas como “sujeitos
que ainda têm que atingir a maturidade biológica e social” e consideradas “jovens adultos
que ainda terão que desenvolver uma série de competências que os adultos já possuem”.
Acrescentam que “este estado do menos-que-adulto significa que a infância é um tempo em
que as crianças são desenvolvidas, motivadas e educadas para os papéis de futuros adultos
que virão a ser”.
Sarmento (2005: 21) considera que “apesar de, no mundo ocidental, a visibilidade dos
problemas das crianças e da condição social da infância ser cada vez maior, o certo é que a
inconsistência da agenda política da infância tem perpetuado e, em alguns casos, agravado
aqueles problemas”.
Vai ainda mais além quando afirma que este mesmo mundo ocidental chegou atrasado ao
encontro obrigatório com os problemas da infância. Despertou numa época em que mesmo
atribuindo às crianças um papel cada vez mais importante, a população tem optado por ter
cada vez menos filhos. Adicionado a esta questão está ainda o aumento da esperança de
vida o que resulta na transformação da infância num grupo populacional com uma
percentagem cada vez mais baixa.
Este despertar ocorreu também num período em que a crise económica tem conduzido ao
desmembramento do “Estado-providência” e onde as mentalidades materialistas e
consumistas dão mais importância aos direitos do consumidor do que às questões da
cidadania.
Referindo também a visão de outros autores como Qvortrup, Sarmento (2005: 21) corrobora
a existência de ”uma enorme ambivalência das atitudes sociais dos adultos perante a
infância. O que os adultos querem para as crianças não se traduz em melhorias das
condições em que elas vivem”, mas na verdade “estas vêm as suas vidas ser cada vez mais
organizadas, (…) a sociedade limita-se a oferecer preparação em termos de controlo,
disciplina e administração, (…) não se reconhece como válida a contribuição das crianças
na produção de conhecimentos, (…) cada vez mais são tomadas decisões a nível
económico e político sem que as mesmas sejam levadas em conta”.
O autor conclui afirmando que “as crianças continuam a ser percepcionadas pelos adultos,
como seres psicológica e fisicamente imaturos, socialmente incompetentes e culturalmente
18
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
ignorantes. Os adultos não lhes têm proporcionado o exercício pleno da cidadania, em
espaços privados e públicos, como, por exemplo, na escola” (Sarmento, 2005: 21).
Qvortrup (1999: 2-3) identifica nove paradoxos que espelham a ambivalência da sociedade
de hoje relativamente à infância. Seleccionam-se, apenas, os que directamente se
enquadram na problemática em estudo:
“Paradoxo 3: Os adultos gostam da espontaneidade das crianças, mas estas vêm as
suas vidas ser cada vez mais organizadas (…)”
“Paradoxo 4: Os adultos afirmam que as crianças deveriam estar em primeiro lugar,
mas cada vez mais são tomadas decisões a nível económico e político sem que as
mesmas sejam levadas em conta (…)”
“Paradoxo 8: Os adultos atribuem geralmente às escolas um papel importante na
sociedade, mas não se reconhece como válida a contribuição das crianças na
produção de conhecimento (...)”
Concluindo esta abordagem à caracterização do segmento social em estudo, compreende-
se, que no contexto dos estudos actuais, podemos concluir que a criança é reconhecida
como um actor social com identidade própria, “irredutível ao mundo dos adultos” (Sarmento,
2003: 11).
“A sociologia da infância faz porém a distinção entre infância, para significar a categoria
social do tipo geracional, e criança, referente ao sujeito concreto que integra essa categoria
geracional e que, na sua existência, para além da pertença a um grupo etário próprio, é
sempre um actor social que pertence a uma classe social, a um género” (Sarmento, 2005:
371).
No entanto, sobrepondo-se ao reconhecimento da infância como categoria social,
pluriconfigurada pelos tempos e contextos sociais, políticos e económicos, emergem
generalizadamente as práticas do domínio, controlo e institucionalização dos adultos sobre
este grupo remetendo-o objectivamente para o estádio de exclusão da participação cívica e
social.
A sociedade ocidental contemporânea pela sua natureza consumista, securitária,
materialista e globalizada, descobre no fim do segundo milénio que este é um dos grupos a
considerar no consumo de bens e serviços, que é também um dos grupos que ameaça a
19
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
estabilidade e a segurança das comunidades e que estão a falhar os sistemas
institucionalizados para o “educar”.
Adicionalmente, Sarmento (2003: 10) realça que “de acordo com a UNICEF e ONG’s como
a Save the Children, a infância é o grupo geracional que nas condições actuais da
globalização hegemónica, é mais (e mais progressivamente) afectado pelas condições de
desigualdade, pela pobreza, pela fome, pelas guerras, pelos cataclismos naturais, pela SIDA
e outras doenças” e que “a 2ª Modernidade radicalizou as condições em que vive a infância
moderna, mas não a dissolveu na cultura e no mundo dos adultos, nem lhe retirou a
identidade plural, nem a autonomia de acção, que nos permite falar das crianças como
actores sociais”.
Concluindo, na sua essência, a questão da infância prende-se, tal como foi referido
inicialmente, com um conjunto de características muito singulares, com os papéis sociais
que desempenha e com as formas como esses papéis são realizados no mundo actual.
Embora percebida a complexidade das diferentes abordagens parece adequado adoptar a
perspectiva sociológica, considerando a criança como um actor social próprio, com uma
cultura específica diferente da dos adultos. Considera-se na mesma linha conceptual que a
infância é uma categoria social geracional, marcada ao longo da história e pela geografia,
pelos diferentes contextos sociais, políticos e económicos.
Apesar da Convenção dos Direitos da Criança ter sido promulgada há dezassete anos pela
ONU, as práticas dos governos e da sociedade estão longe de respeitar os direitos, formal e
universalmente reconhecidos às crianças. Assim, as organizações mundiais de referência,
como a Unicef, continuam a eleger como medida prioritária a defesa dos seus direitos.
Os papéis que as crianças têm desempenhado na sociedade têm sido limitados pelo poder
dos adultos e das instituições que estes criaram para as controlar e continuará a sê-lo
enquanto estes não considerarem as crianças, como agentes sociais com direitos próprios,
nomeadamente o direito a serem ouvidas, participando nas decisões que as afectam. Esta
realidade ainda é mais notória nas sociedades desenvolvidas e globalizadas onde as
práticas de controlo estão mais institucionalizadas.
20
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
1.2 – As suas necessidades, apetências e motivações
A tentativa de caracterização das crianças e da infância, segmento alvo deste estudo,
permitiu perceber a infância como “categoria social do tipo geracional”, multiplamente
configurada pelos contextos sociais, económicos, políticos e culturais que a circunscrevem.
Quando agora nos propomos responder à questão “Quais são as suas necessidades,
apetências e motivações?” devemos então procurar a fundamentação das respostas,
interpretando a segmentação etária da infância e delimitando a nossa análise ao universo
das crianças (0-18 anos) do mundo ocidental.
Na verdade, quando procuramos caracterizar as necessidades, apetências e motivações
das crianças, cresce a complexidade da análise pois sobrepondo-se à “pluriconfiguração” da
sua natureza, emergem os diversos estádios da infância e da sua cultura própria, marcando
claramente as suas necessidades, apetências e motivações.
Sarmento (2003: 13) propõe quatro eixos estruturantes para as culturas da infância: a
interactividade, a ludicidade, a fantasia do real e a reiteração.
As crianças, em contacto com realidades diferentes como a família, a escola, a comunidade,
o grupo de amigos, fazem uma aprendizagem eminentemente interactiva. Estabelecem a
cultura de pares através de “um conjunto de actividades ou rotinas, artefactos, valores e
preocupações que as crianças produzem e partilham na interacção com os seus pares”
(Corsaro, 1997: 114, citado por Sarmento, 2003: 14). As crianças deixam aos seus pares
mais novos, o legado das brincadeiras, jogos e valores que partilham e os comportamentos
infantis, produto das suas culturas são transmitidos ás gerações seguintes de crianças, sem
a maior interferência dos adultos.
Um dos aspectos marcantes das culturas infantis é a ludicidade: “as crianças brincam
contínua e abnegadamente” Sarmento (2003: 15). A cultura lúdica é central à própria ideia
de infância e, se hoje os brinquedos contemporâneos como por exemplo a boneca Barbie,
são completos, intencionais e estruturados, uniformizam as brincadeiras, limitam, cerceiam e
globalizam o imaginário infantil, a natureza interactiva do acto de brincar preserva sempre e
ainda, a brincadeira para lá dos brinquedos, como condição de aprendizagem e da
construção das relações sociais da criança.
21
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
“O mundo do faz de conta faz parte da construção pela criança da sua visão do mundo e da
atribuição do significado às coisas” Sarmento (2003: 16). Os acontecimentos, situações,
objectos e pessoas são percepcionados e interpretados pelas crianças na fronteira entre a
realidade e a fantasia 2.
Os objectos não representam para as crianças apenas o que valem e o que servem, mas
qualquer coisa mais ainda e “essa coisa é que é linda “, como dizia Fernando Pessoa (citado
por Sarmento, 2003: 17).
Também o tempo é reinventado pelas crianças na sua condição do sempre possível
“rewind”, repetido vezes sem conta e reiniciado, com capacidade para repetir ou alterar o
curso dos acontecimentos da sua vida e das suas brincadeiras. O tempo recursivo da
criança permite-lhe a aprendizagem, a remontagem das rotinas e a reexploração dos
espaços de descoberta. O tempo recursivo permite à criança sobreviver às experiências
mais terríveis e reforçar-se na revivência das suas alegrias e vitórias.
Segundo Sarmento (2005: 375), a criança funde os tempos presente, passado e futuro,
numa recursividade temporal e numa reiteração de oportunidades que é muito própria da
sua capacidade de transposição no espaço-tempo e de fusão do real com o imaginário 3.
Estes eixos estruturantes da cultura infantil evidenciam só por si a natureza das apetências
e motivações fundamentais das crianças, naturalmente cada um deles assumindo maior ou
menor peso nos diferentes segmentos etários da infância.
Procurando caracterizar as diferentes fases de desenvolvimento da infância, recorreu-se à
teoria de Erik Eriksson que considera que cada fase da vida está associada com um
específico conflito psicológico cuja solução imprime marcas decisivas na personalidade.
O Child Development Institute e o Erik Eriksson Institute foram as instituições de referência
para a fundamentação teórica da caracterização dos diferentes segmentos etários da
infância, dando realce aos traços psicológicos e culturais mais relevantes para o nosso
estudo: as capacidades de confiança e autonomia básicas, de interacção social, de
iniciativa, de disciplina e trabalho de equipa. Assim, recorrendo à teoria dos oito estádios de
desenvolvimento psicológico de Eriksson, conforme é apresentada pelo Child Development
2
Para Sarmento, a alteração da lógica formal não significa que as crianças tenham um pensamento ilógico. Pelo contrário,
essa alteração, estando patente na organização discursiva das culturas da infância (especialmente no que respeita ao jogo
simbólico), é coexistente com uma organização lógico-formal do discurso, a qual permite que a criança simultaneamente
“navegue entre dois mundos – o real e o imaginário – explorando as suas contradições e possibilidades (Harris, 2002: 232,
citado por Sarmento, 2005: 15).
3
Sarmento (2003: 17-18) recorre à obra “Rua de sentido único e infância em Berlim por volta de 1900” de Walter Benjamin
(1992), publicada na Relógio de Água, que tem páginas admiráveis sobre esta capacidade de transmutação infantil.
22
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Institute, consideramos quatro grandes segmentos etários na infância:
As crianças até aos 4 anos atravessam dois momentos distintivos, o da “aprendizagem da
confiança básica” e o da “aprendizagem da autonomia”. No seu decorrer desenvolvem
sentimentos de segurança, confiança, de optimismo básico e mecanismos de autonomia,
que não de iniciativa ou auto-controle e independência. A brincadeira e os brinquedos
auxiliam as crianças a perceber o seu mundo e a fantasiar diferentes personalidades. Elas
usam-nos para lidar com os problemas e mimetizar o que vêm fazer. Até começarem a
escola, a maior influência que as crianças têm são os brinquedos, bonecos, jogos e roupas
(Clarke, 2005: s/p). A televisão, nomeadamente através das programações para as crianças
do Disney Channel, Nickleodeon e Cartoon Network, assume particular relevância já nesta
fase, confirmando-se como poderoso instrumento massificador e normalizador das primeiras
sensações audiovisuais das crianças e das suas percepções do mundo exterior. Se estamos
à procura do que atrai estas crianças temos de estar conscientes que a brincadeira e a
fantasia têm um papel fundamental e que nesta faixa etária, que se prolonga até aos quatro
anos de idade, os eixos culturais da fantasia do real e da reiteração assumem a maior
relevância.
As crianças dos 4 anos aos 7 anos desenvolvem a imaginação e diversificam as suas
capacidades através das brincadeiras activas de qualquer tipo. É a fase da “aprendizagem
da iniciativa”. A partir dos cinco anos de idade, altura em que quase todas as crianças
europeias já frequentam a escola a tempo inteiro, é muito claro que os professores e os
amigos começam a ter uma influência crescente na vida das crianças. Apesar disso, até aos
sete anos a maior influência é ainda a familiar, incluindo a dos parentes mais próximos,
chegando mesmo a ditar aquilo que as crianças escolhem em termos de alimentação,
vestuário, música e actividades de lazer. Depois dos sete anos começa a pressão dos pares
e é nesta mesma idade que as tendências começam a emergir dos playgrounds,
surpreendendo uma grande parte dos pais (Clarke, 2005: s/p). As crianças desta idade têm
uma especial capacidade de aprendizagem e de desenvolvimento aos níveis físico,
emocional, social, comunicacional e cognitivo e formam muito cedo o seu sistema de
valores. Os eixos culturais predominantes são a interactividade e a fantasia do real.
As crianças dos 7 anos aos 11-12 anos caracterizam-se pela evidência das atitudes
exploratórias do mundo circundante e do lugar que nele ocupam. É com estas idades que as
crianças iniciam as relações grupais e o estabelecimento da sua própria identidade social.
As crianças aprendem como lidar com as aptidões mais formais da vida: a relação com os
23
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
pares, a progressão da simples brincadeira para aquela que exige estrutura mais elaborada
com regras e trabalho de equipa. As tendências nesta faixa etária são complexas pois, em
muitos casos, as crianças já são crescidas demais para os brinquedos sendo também novas
demais para as coisas que os mais velhos preferem, como sair com os pais para fazer
compras ou passear nos parques. “Para as crianças entre os sete e os oito anos de idade é
mais entusiasmante as brincadeiras com os seus pais, é uma forma de estarem juntos.
Neste contexto brincar significa receber atenção, divertirem-se, estarem intensamente
ocupadas, arreliar e beliscar: desperta o sentimento de solidariedade e da pertença” (Van
Gils, 2000: 143). Surpreendentemente, os miúdos com estas idades não anseiam pelo estilo
de vida dos adolescentes pois vêm neles os problemas com as amizades, os desportos e as
hormonas. A verdade é que nem sempre e nem todas as crianças desejam crescer
4
rapidamente. O quarto dos tweenagers torna-se numa “Cave de Aladino” repleta de
tecnologia e onde tudo se passa, especialmente os jogos de computador e a música. É com
esta idade que as roupas de marca começam a importar e o uso da marca errada é
considerado um suicídio social (Clarke, 2005: s/p). Nesta faixa etária são especialmente
relevantes os eixos culturais da ludicidade e da interactividade.
As crianças dos 12 aos 15 anos iniciam a fase da adolescência ou da “aprendizagem da
identidade”, aprendem como responder satisfatoriamente à questão Quem sou eu? Mas,
mesmo o mais bem adaptado adolescente, experiencia alguma dispersão e ansiedade na
definição do seu papel. Nesta fase há um forte impulso para a formação do “self” e da
necessidade de integração grupal e social. As relações e interacções sociais são primordiais
e conduzem o comportamento destas crianças, a entrar na fase da adolescência, sendo
culturalmente predominantes a ludicidade e a interactividade. “Quando estas crianças falam
de brincar, falam das brincadeiras ao ar-livre, anseiam por ‘territórios’ autónomos, não
ocupado e não utilizado onde possam ter conversas com os amigos, brincar animada e
energeticamente ou simplesmente, jogar futebol” (Van Gils, 2000: 143). A apropriada
socialização inicia-se aos doze anos e estende-se para além dos quinze. Assim que as
crianças começam a descobrir o seu “eu” da adolescência e a sentir a sua ligação com a
sociedade, tendem naturalmente a sentir a necessidade de intervenção e acção social.
Nesta idade é total o domínio das tecnologias e o seu uso intensivo para aprender e
comunicar.
As crianças dos 15 aos 18 anos estão na fase madura da adolescência, em pleno domínio
4
Tween é um neologismo aplicado às crianças com idades entre (between) a infância e a adolescência, geralmente na faixa
etária dos 8 aos 12/14 anos de idade. Quanto às motivações, este grupo etário deseja desesperadamente ser teenager mas
continua a comportar-se como uma criança, justificando que se diga deles: “too old for toys, but too young for boys”.
24
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
das capacidades cognitivas e em transição para o estado de jovem adulto em que lhes será
finalmente reconhecida a sua intervenção como cidadãos de pleno direito, nomeadamente
com direito à participação na vida política através do voto. As crianças desta faixa etária
questionam e discutem assuntos morais, sociais, políticos e filosóficos, arrogantes das suas
evidentes capacidades intelectuais, entram facilmente em conflito com a família, com a
escola e com os adultos. Os adolescentes dão a maior importância à socialização,
necessitam garantir o pleno reconhecimento dos seus pares, subjugam-se às regras
grupais, adoptam todas as tendências da moda juvenil e utilizam obsessivamente as
tecnologias de comunicação, evidenciando como eixos culturais de maior peso a
interactividade e a ludicidade.
No contexto da sociedade ocidental globalizada, expande-se a influência dos media e do
marketing infantil, a acessibilidade das tecnologias de informação e comunicação e
consolidam-se os mercados mundiais de produtos culturais e de consumo para a infância:
programas de TV, vídeos, cinema, desenhos animados, jogos informáticos, literatura infanto-
juvenil, parques temáticos, mobiliário, roupas, material escolar, comidas, brinquedos, etc.
As crianças criativas e profundamente fantasistas são, também e sobretudo elas, enredadas
na malha da globalização, adquirindo gostos e hábitos de consumo normalizados e
partilhados a uma escala mundial: “coleccionam cartas Pókemon, vêem os mesmos
desenhos animados japoneses, brincam nas consolas de jogos Mattel, lêem os livros do
Harry Potter, calçam ténis da Nike, vestem blusas da Benetton 0-12 ou da CChico,
alimentam-se do Happy Meal no McDonalds e vêem pelo Natal as super produções da
Disney (Steinberg e Kincholoe, 1997; Schepen-Hughes e Sargeant, 1998, citados por
Sarmento, 2003: 9). “Há no entanto a reinterpretação activa pelas crianças destes produtos
culturais, fixando-os numa base local, cruzando culturas globalizadas com culturas
comunitárias e culturas de pares” (Sarmento, 2003: 9), permitindo-nos sempre perceber nas
especificidades culturais das nossas crianças as marcas da comunidade, da família, da
escola e dos seus amigos.
As principais necessidades e motivações das crianças também são evidenciadas quando se
cruzam as suas diversidades e especificidades culturais com a caracterização das
necessidades e motivações (Maslow, 1943: 370-396). Assim, podemos reconhecer na
infância os três níveis das necessidades biológicas, psicológicas e intelectuais.
As crianças são especialmente afectadas e sensíveis à satisfação das suas necessidades
25
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
fisiológicas, de segurança e de amor, evoluindo para o nível das necessidades psicológicas
na medida da sua evolução etária e cultural. As necessidades de ordem psicológica
associadas ao amor-próprio e à auto-realização emergem a partir dos sete anos e as
necessidades de ordem intelectual associadas ao conhecimento e à sensibilidade estética
são crescentemente dominantes até à adolescência plena.
“A gente gosta é de brincar com os outros meninos!” (Ferreira, 2004), este título do livro da
socióloga Manuela Ferreira espelha muito claramente aquela que é uma das necessidades
básicas e fundamentais das crianças. Nesta obra, a autora retrata o quotidiano das crianças
entre os três e seis anos num jardim de infância público, analisando as suas rotinas e rituais
de comunicação e socialização, detectando a transgressão e reconstrução de papéis,
identidades, relações grupais e práticas culturais. Deste estudo releva-se que quando às
crianças é dada voz própria, relativamente aos seus gostos e preferências, a resposta é
directa e imediata, o que mais gostam é de brincar com os outros meninos.
Mas a conceptualização infantil da brincadeira não assume a objectividade limitada que os
adultos normalmente lhe atribuem. “Comummente este termo é usado por elas (as
crianças), para definir uma determinada ocupação, que não pode ser descrita através de um
nome concreto. Obtém-se uma descrição das circunstâncias, mas não é dada, à própria
actividade, uma mais detalhada designação”. “Quando as crianças perguntam com muita
frequência Posso ir brincar?...elas não estão a perguntar algo de muito exacto e definido,
estão simplesmente a reclamar o direito à autodeterminação”; “quando as crianças falam
sobre brincadeiras, brincadeiras a sério, então estão a referir-se a brincar ao ar-livre”;
“brincadeira dentro de portas não é percepcionada como brincadeira completa, na
verdadeira acepção da palavra” (Van Gils, 2000: 139-142).
Apesar do actual e agitado debate acerca dos problemas da educação e das mudanças nas
famílias, sem dúvida que a mais significativa influência diz respeito ao uso que estas fazem
do tempo, quando pais e professores não estão presentes.
Psicólogos da Universidade de Yale, Jerome e Dorothy Singer (citados por Barnett-Morris,
D. e Kleiber, L. (s/d), The state of children’s play, Academy of Leisure Sciences), concluíram
que “os pais tendem a organizar demais os tempos dos seus filhos, pensando em aulas e
tarefas específicas em demasia. A partir dos dois anos e meio acabam por mantê-los
ocupados demais. É urgente e necessário equilibrar as actividades com as suas
26
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
brincadeiras independentes”. Também o psicólogo da infância Davis Elkind, citado no
mesmo artigo dos autores acima referidos, considera que “As crianças são constantemente
estruturadas e orientadas pelos seus pais com um único fim, atingir objectivos. É cada vez
mais comum encontrar nas crianças resistência à organização das suas actividades.
Quando questionadas sobre se gostariam de entrar nas ligas juniores de um qualquer
desporto as respostas foram, «Não, a escola cansa-me muito. O meu maior desejo é
relaxar»”.
Estes usos do tempo poderão ser a chave para uma bem sucedida negociação da infância.
O que deve ser o tempo livre das crianças é um assunto muito controverso e conduz muitas
vezes a posições extremas, tanto nas análises filosóficas acerca da natureza humana como
nas preocupações com a vida do dia-a-dia. Mas, cabe também ás crianças decidir o que
vale ou não a pena, o que é ou não divertido e no fundo, o que pode conduzir a mais e
melhores resultados.
Com tempo e recursos adequados, a criança pode aprender a transformar a realidade para
se ultrapassar a si própria. Esta é a essência da brincadeira, do brincar. A brincadeira é, em
particular, uma manifestação especial da liberdade na infância.
“As investigações sobre a brincadeira têm concluído que esta traz benefícios para o
desenvolvimento cognitivo, social e emocional. As crianças a quem é permitido brincar com
determinados instrumentos/materiais mostram claras evidências de alta criatividade e
capacidade de resolução de problemas”; “crianças a quem é permitido brincar com os seus
pares evidenciam maiores competências sociais; crianças com oportunidade de brincar com
situações de desafio tornam-se mais auto-confiantes” (Barnett-Morris e Kleiber, s/d).
Concluindo esta tentativa para identificar as necessidades, apetências e motivações das
crianças do mundo contemporâneo e ocidental, podemos começar por confirmar como
comuns aos diversos segmentos etários da infância, dois eixos culturais estruturantes: a
ludicidade e a interacção.
Muito embora assumindo diferentes formas e pesos, estes eixos marcam a cultura das
crianças dos zero aos dezoito anos e marcam as suas necessidades, apetências e
motivações.
27
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Às crianças não inquietam o novo e o diferente, daí a sua grande apetência para a
experimentação e para a inovação. De algum modo, é este um sinal de renovação da
aprendizagem e do conhecimento. Às crianças, experimentando e reinventando papéis e
relações sociais, não inquietam os seus pares, daí a sua grande ligação social e o seu
permanente envolvimento grupal. De algum modo, é este um indício de espíritos solidários e
inclusivos.
As crianças confiam no afecto e no amor que esperam sempre receber, essa é a sua maior
e mais natural necessidade 5.
5
“À criança que aprende e desenvolve a capacidade humana de construir amor e entendimento, falta-lhe experiência de
deslealdade e traição; ignora o valor de transacção como moeda de troca: confiando em quem toma conta dela, deixando
correr o fluxo da confiança e prevendo um mundo de festa” (Iturra, 1994: 37).
28
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
1.3 – Educação, novas formas e agentes
TTeeellllll m
T meee,,, aaannnddd III w
m wiiillllll fffooorrrgggeeettt...
w
S
Shhhooow
S wwm mmeee,,, aaannnddd III m
mmaaayyy rrreeem mmeeem mbbbeeerrr
m
66
IIInnnvvvooolllvvveee m
meee,,, aaannnddd III w
m wiiillllll uuunnndddeeerrrssstttaaannnddd 6
w
O relatório da Unesco (1996), “Learning: the treasure within”, elege como propósito
primordial conduzir o mundo para mais entendimento mútuo, mais responsabilidade e mais
solidariedade, aceitando as diferenças culturais, através da educação que abrindo o acesso
ao conhecimento, ajudará os povos a entender o mundo e os outros.
Mas a educação, formalmente instituída e estabelecida em sistemas normalizados, é hoje
generalizadamente considerada como um sistema em ruptura social. A integração de todas
as crianças no sistema educativo, fundada na perspectiva de construção de uma cidadania
nacional qualificada, conduziu à expansão de um sistema educativo que não é capaz de
responder às expectativas que a sociedade depositou nele.
Os índices de insucesso escolar e de abandono escolar precoce, a incapacidade do sistema
educativo em resolver os problemas de exclusão social, de combater as drogas e a violência
e de restaurar valores, são sintomas que emergem em maior ou menor grau nos sistemas
de educação do mundo ocidental contemporâneo.
Vive-se hoje uma crise que, segundo Sarmento (2002: 275), “abala já não apenas os
processos de acção educativa e os modelos pedagógicos, mas também se dirige ao
coração mesmo da dimensão institucional da escola. Esta crise associa-se ao crescimento
dos movimentos juvenis e à génese de uma cultura contra a escola (Willis, 1991; Giroux,
1994), que se exprime de variadas formas, sendo apenas uma delas a disrupção escolar”.
Abrem-se, hoje, interrogações e procuram-se caminhos para novos modelos de educação
que sejam capazes de trazer novas formas de aprendizagem e de crescimento saudável
para todas as crianças.
6
Provérbio Chinês, Hovenlynck (2001: 1).
29
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Segundo António Nóvoa (2006: s/p), é preciso “mudar de posição e mudar de perspectiva.
Mudar de posição: em vez de chamar para nós a responsabilidade, colocarmo-nos num
espaço de redes (culturais, familiares, sociais) que construa novos compromissos em torno
da educação. É preciso responsabilizar a sociedade pela escola. Mudar de perspectiva: em
vez da escola fechada, baseada num modelo arcaico, imaginar a nossa acção como
elemento de um novo espaço público de educação. É tempo de pôr a "sociedade a serviço
da escola" em vez da "escola a serviço da sociedade” (Albert Jacquard)”.
As soluções para a resolução destes problemas poderão então passar por “uma lógica
alternativa para a educação escolar, contra a exclusão e pela afirmação dos direitos
sociais“.
Em primeiro lugar e lutando contra a “exclusão dos saberes das crianças dos grupos sociais
das classes populares e das minorias étnicas e culturais (…), é indispensável quebrar com
tudo aquilo que são os elementos simbólicos que constituem o senso comum da acção
educativa. Isto significa aprender tudo de novo, fundamentar tudo de novo, obrigar a
repensar os adquiridos, combater através de um esforço de reflexividade, os efeitos de
institucionalização da escola” (Sarmento, 2002: 278).
Em segundo lugar, a escola só se renovará, encontrando novas bases cívicas, se trabalhar
a sua capacidade de “fazer o cruzamento com uma lógica emergente, que é a lógica dos
direitos da criança. Uma escola que não se articula com os direitos da criança não merece
abrir as suas portas. Esta articulação entre a lógica educativa e os direitos da criança, em
todas as suas dimensões, é um esforço absolutamente essencial” (Sarmento, 2002: 279).
A escola que, nos primeiros anos da modernidade, era vista como agente da socialização
das crianças, vê-se hoje confrontada com novos e poderosos agentes de socialização.
Como diz Ana Coll Delgado (2003: 7), “Nos acostumamos a pensar nas crianças enquanto
alunos e alunas, geralmente em escolas ou espaços educativos formais, ou ainda na
crianças dentro das creches ou pré-escolas. Nos acostumamos a pensar em educação
como algo institucionalizado e vivido em espaços escolares. Na verdade temos pesquisado
e produzido muito pouco sobre outros espaços educativos como a televisão, os jogos de
vídeo-game, as salas de Internet, os movimentos sociais, as ruas, as vilas e favelas com os
seus espaços informais e clandestinos de educação, as academias, os shoppings, as
escolas de samba e as danceterias. Enfim, pouco nos interessamos pelas crianças e suas
culturas interagindo em espaços que nós adultos ainda desconhecemos”.
30
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Por último, há que repensar o que hoje é o conhecimento, as dimensões da sua
necessidade e a forma como é assimilado pelas crianças. Como afirma Bernard Charlot,
citado por Sarmento (2002: 279) “há uma manifesta insuficiência do conhecimento adquirido
acerca do modo como os meninos ou como as meninas das classes populares se articulam
com os saberes escolares, os incorporam, os investem no seu discurso, e realizam todo o
processo de codificação do conhecimento (Charlot et al., 1999) (…) O que está em causa é
perceber como os saberes se tornam mais significativos, mais desejados e mais
susceptíveis de provocar a felicidade nos alunos e promover a sua cidadania activa“.
Outra das consequências da institucionalização e normalização do sistema educativo é a
homogeneidade de métodos e ritmos pedagógicos que não se compadece com a individual
especificidade de cada criança. É já alargada a convicção da urgência de uma
“aprendizagem em torno de uma nova visão das diferenças individuais, na forma como as
crianças interagem uma com as outras e com o mundo” (Brazelton e Greenspan, 2000:
150).
Muitos pedagogos proclamam o fim da “standardização da educação” e defendem que,
“trabalhar com uma criança e tentar constantemente arranjar melhores maneiras de
compreender as suas diferenças e criar interacções de aprendizagem dinâmica e
individualizada, gera, muitas vezes, oportunidades contínuas de crescimento. A educação
deve utilizar metodologias de aprendizagem interactivas e dinâmicas, que promovam a
compreensão conceptual em lugar da memorização. Pais e educadores podem trabalhar
juntos na adaptação das experiências e aprendizagem às diferenças individuais de cada
criança” (Brazelton, Greenspan, 2000: 151).
A sociedade globalizada, em rede e em mudança, apresenta ainda novas configurações de
desafio aos formatos institucionais e formais de educação. Na verdade, os lugares, tempos,
agentes e modos de aprendizagem e os lugares, tempos, agentes e modos do saber estão
em mudança.
É para responder à turbulência da sociedade contemporânea que também se anuncia um
novo formato para a aprendizagem: a “Aprendizagem Sempre”, a aprendizagem ao longo da
vida… e se espera da educação que seja capaz de criar condições para ajudar as crianças
a ganhar capacidades de sobrevivência neste novo mundo.
31
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Segundo o Relatório da Unesco (1996: 37-38), “Learning: the Treasure Within”, a
aprendizagem ao longo da vida é a chave que dará acesso ao Século XXI e, nessa
perspectiva, a educação deverá basear-se em quatro grandes pilares: aprender a saber,
aprender a fazer, aprender a viver em conjunto e aprender a ser.
Aprender a saber, combinando o conhecimento geral com o conhecimento
especializado e garantindo meios e hábitos de aprendizagem ao longo da vida;
Aprender a fazer, não só para adquirir competências ocupacionais mas sobretudo
para ser capaz de responder a novas situações e trabalhar em equipa;
Aprender a viver em conjunto, compreendendo outras pessoas e culturas,
respeitando os valores do pluralismo, do entendimento e da paz;
Aprender a ser, desenvolvendo a sua personalidade para agir com autonomia, auto
avaliação e responsabilidade.
A Unesco considera ainda que o progresso das Tecnologias da Informação e Comunicação
deve criar condições de acesso universal e generalizado ao conhecimento, à diversificação
e expansão da educação à distância e sobretudo deverá ser um poderoso instrumento de
aprendizagem ao longo da vida.
Os audiovisuais como a televisão e a Internet assumem hoje um lugar único nas vidas e
relações entre pares de todas as crianças a nível mundial. Uma das consequências deste
facto incontornável é que “os pais e professores sentem estar a perder autoridade – não
apenas porque se sentem incapazes, ou simplesmente relutantes em alterar velhos
esquemas de transmissão de conhecimento – mas também porque as crianças têm acesso
a uma crescente quantidade de conhecimento através de outros meios” (Casas, 2000: 19).
As fontes tradicionais de conhecimento começaram a esgotar-se sendo que todos os dias
surgem novos contextos, novos agentes e novas metodologias de ensino, novos modos de
brincar e novos entretenimentos oferecidos pelas tecnologias.
Consequentemente os jovens passaram a poder aceder a outras formas de autoridade, que
são muito diferentes daquelas que os adultos convencionalmente pensavam controlar
(Casas, 2000:19). Até a escola, enquanto instituição formal de educação, “está a ser
destronada do topo da árvore do conhecimento” (Casas, 2000: 19).
32
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Também as culturas das crianças se estão a alterar e assiste-se hoje a uma verdadeira
revolução na sua vida social, nos espaços que ocupam nas cidades e ainda na sua
educação e tudo isto parece passar-se com a distracção dos adultos. Denota-se, ainda, que
este não envolvimento dos adultos, causado, em parte, pelo não domínio das novas
tecnologias, cria também “novos problemas comunicacionais entre pais e filhos” (Casas,
2000: 20) sendo que as crianças, ao contrário do que era habitual, são agora tão ou mais
competentes em algumas áreas do que os adultos.
Assim, muito como consequência mais uma vez das novas tecnologias, especialmente as
de comunicação, a brincadeira já não é apenas uma forma das crianças se entreterem e
passarem o tempo, a brincadeira passou a ser também um poderoso instrumento de
aprendizagem, entretenimento, comunicação e estabelecimento de relações. Verifica-se,
ainda, não se tratar apenas de uma nova realidade com novos instrumentos, trata-se
mesmo da emergência de ”novas situações – a fantasia e o virtual tornaram-se reais, porque
é possível interagir com elas e alterá-las” (Munné e Codina, 1992 citados por Casas, 2000:
22).
No entanto e ao contrário do que seria de esperar, esta intensiva utilização dos media
parece não substituir nas crianças, a necessidade e mesmo a urgência da socialização e
interacção não só com os pares mas também com os adultos. “Enquanto houver amigos, as
crianças preferem as brincadeiras aos media, preferindo certamente a companhia dos
amigos à companhia dos media” (Casas, 2000: 24).
Perante um contexto de interrogações sobre os novos caminhos da educação e num quadro
em que emergem as crianças como agentes sociais com voz e cultura próprias, é
determinante considerá-los quando se propõem novos modos de aprendizagem.
Não esquecendo que as suas necessidades, apetências e motivações são marcadas pelos
eixos mais relevantes da ludicidade e da interactividade, perspectiva-se a necessidade de
reforçar caminhos da nova educação que os tenham em conta.
Os novos modos de educação que as tecnologias da informação e comunicação têm vindo a
anunciar apresentam precisamente as duas componentes relevantes para as crianças, a
interactividade e a ludicidade, justificando assim a grande apetência para a sua utilização.
33
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Aos desafios que se colocam hoje à educação, começam a ser experimentadas e estudadas
algumas respostas. Pela sua relevância e na medida em que confirmam a importância das
componentes lúdicas e interactivas na educação das crianças, registam-se o método
apresentado no “Guia de recursos – Educação ao ar-livre” (Barnes, 2005), publicado pela
Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Network em 2005, e um estudo sobre uma questão
profundamente pertinente “Será o lazer educacional uma contradição de termos?
Explorando a sinergia entre educação e entretenimento” (Packer e Ballantyne, 2004),
publicado nos Annals of Leisure Research em 2004.
A educação ao ar-livre é um método educativo que se caracteriza por “encarar os objectivos
educativos através da experimentação directa no ambiente, usando os seus recursos como
materiais para a aprendizagem” (Hunt, 1989: 17, citado por Barnes, 2005: 1) e que utiliza
como técnicas educativas “actividades relacionadas com viver, movimentar-se e aprender
ao ar-livre” (Darlington Conference, citado por Barnes, 2005: 1).
Os objectivos que se pretendem atingir quando se aplica esta técnica de ensino são
sensibilizar para e incutir o respeito pelo: “eu, através do confronto com desafios; o outro,
usando as experiências de grupo e a partilha de decisões; a natureza, por meio de
experiência directa” (Barnes, 2005: 1).
Para que na prática estes resultados sejam obtidos importa, como consideram os autores
Higgins e Loynes (1997: 6, citado por Barnes, 2005: 2), que sejam incluídos os seguintes
elementos:
“elementos educacionais que estimulem o desenvolvimento pessoal e social;
experiências que incluam temas relacionados com a natureza, aventura e educação;
a aprendizagem como um processo experimental que requeira contacto directo;
um aumento da predisposição para o eu e o social, acrescida da sensibilidade pela
comunidade e pelo ambiente”.
Hunt (1989: 16, citado por Barnes, 2005: 2) sugere ainda, que seja dado especial ênfase
aos seguintes temas: “o desenvolvimento de capacidades técnicas, intelectuais e sociais; a
apreciação científica e estética do ambiente; o conceito de utilidade à sociedade, à
comunidade, ao ambiente ou à própria actividade; o desenvolvimento social”. Interessa,
portanto, pensar na educação ao ar-livre numa perspectiva integradora de “estímulos para o
desenvolvimento, a auto-disciplina, o julgamento e a responsabilidade, assim como as
relações com os outros e com o ambiente”. Este método tem vindo a ser praticado em
34
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
situações de aprendizagem mais informais e embora a sua fundamentação teórica tenha em
conta os princípios da interactividade e ludicidade, a sua aplicação carece de normas
rigorosas de programação e controlo.
Relevante para a nossa análise sobre as novas formas e agentes da educação, realça-se
ainda, o estudo desenvolvido por Jan Packer e Roy Ballantyne, da Queensland University of
Technology, publicado em 2004, nos Annals of Leisure Research, com o intuito de identificar
as sinergias entre educação e entretenimento e investigar a possível contradição contida na
terminologia lazer educacional.
Começando por uma análise teórica sobre a complexidade das relações entre educação e
lazer, os autores fazem uma extensa abordagem à investigação produzida nesta área
reconhecendo e citando um vasto número de autores de referência.
O estudo, baseado em perspectivas teóricas e empíricas, fundamentou-se ainda num
inquérito efectuado a quatrocentos e noventa e nove visitantes de seis espaços e
equipamentos de lazer educacional e usou três métodos de análise: avaliação quantitativa
dos próprios visitantes acerca da compatibilidade entre educação e lazer nas suas visitas;
análise das relações entre educação e lazer nas aspirações dos visitantes e das suas
percepções sobre o ambiente e experiências de aprendizagem; apreciações qualitativas dos
visitantes sobre a educação e o lazer durante as suas visitas.
Greenhalgh (1989, citado por Packer e Ballantyne, 2004: 55) argumenta que o conflito entre
educação e entretenimento resulta da percepção da divisão entre trabalho e lazer, da cultura
ocidental. A educação é vista como estando ligada com o trabalho e o entretenimento com o
prazer, estando em geral assumido, que os dois são incompatíveis. O trabalho, por outras
palavras, não pode ser divertido e o lazer não pode ser sério. Segundo esta perspectiva, o
próprio conceito de lazer educacional apresenta-se como uma contradição.
Neste estudo, os termos educação e educacional são usados para referir os aspectos
incluídos na experiência da visita que estabelecem uma ligação cognitiva com o visitante,
independentemente dos resultados educativos serem ou não atingidos.
Para a maioria dos académicos, a educação é conotada como algo importante e de
qualidade, já o entretenimento sugere a vacuidade e a frivolidade. No entanto, segundo os
autores deste estudo, estes pressupostos não são necessariamente partilhados pelo
público.
35
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
À medida que as sociedades transferem as bases das suas economias, da industrialização
para o conhecimento, os indivíduos têm cada vez mais acesso a aprendizagens de livre
escolha e para toda a vida.
De facto, para muitas pessoas “a informação a que têm acesso enquanto estão nos seus
tempos de lazer, pode ser a única oportunidade que têm para, aprender sobre os laços que
têm com o ambiente, com a história ou com a cultura” (Moscardo, 1998: 4, citado por Packer
e Ballantyne, 2004: 54).
Os espaços e equipamentos de lazer que oferecem componentes educacionais são muitos
e apresentam-se de variadas formas: centros de artes, museus de história e de história
natural, jardins botânicos, parques naturais, parques nacionais, centros de ciência, jardins
zoológicos, aquários, casas históricas, casas reconstruídas, locais de interesse patrimonial e
arqueológico (Packer e Ballantyne, 2004: 54).
Sobre a contribuição dos museus e outros equipamentos de lazer para as aprendizagens ao
longo da vida do público visitante, os autores recorrem a uma vasta produção teórica já
produzida por Anderson (1997), Downs (1995), Edward (1995), Falk et al. (1995), entre
outros.
Packer e Ballantyne (2004: 55) referem ainda que “normalmente, os centros interpretativos
encorajam os visitantes a questionar os seus valores, atitudes e acções relativamente a
assuntos mais polémicos, considerando-se a si próprios como agentes activos da educação
e da mudança (Ballantyne e Uzzell, 1993; Uzzell, 1998; Ballantyne e Uzzell, 1998)”.
Alguns membros desta área do lazer educacional fornecem de modo deliberado, aos seus
visitantes, elementos de entretenimento mantendo simultaneamente o valor educativo.
“Os visitantes deslocam-se a locais como a Disneyland tendo como primeira motivação o
entretenimento. O facto das exposições serem pensadas ao estilo dos parques temáticos,
leva a que o visitante acabe por incidentalmente aprender uma grande variedade de
informação, sobre um vasto leque de assuntos como a história, desenvolvimento tecnológico,
agricultura, vida selvagem, evolução, diversidade cultural e inovação tecnológica” (Hedge,
1995: 106-107, citado por Packer e Ballantyne, 2004: 55).
Miles (1986, citado por Packer e Ballantyne, 2004: 55) sugere que, enquanto os
profissionais dos museus encaram os museus numa perspectiva meramente académica
como um lugar dedicado à aprendizagem e não ao lazer, já os visitantes encaram-nos como
um local para o entretenimento.
36
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Roberts (1997, citado por Packer e Ballantyne, 2004: 57) considera que a própria natureza
do entretenimento evoca as condições ideais para a aprendizagem, tal como a abertura de
espírito e a atenção ao mundo exterior. Os adultos, assim como as crianças, necessitam de
um ambiente que permita a exploração, a interrogação e o desafio para ganharem assim, a
compreensão de si próprios e do mundo que os rodeia (Anderson, 1997; Mitchell, 1998,
citados por Packer e Ballantyne, 2004: 57). Estes tipos de aprendizagens podem ser
directamente relacionadas com as brincadeiras das crianças, tornando-se a surpresa, a
aventura e a descoberta, ingredientes chave da aprendizagem (Melamed, 1987, citado por
Packer e Ballantyne, 2004: 57).
No turismo, a necessidade da novidade ou diferença, das novas formas de estímulo e
aventura, da exploração e entendimento do desconhecido, são assumidas como importantes
motivações (Lee and Crompton, 1992; Mayo and Jarvis, 1982, Snepenger, 1987, citados por
Packer e Ballantyne, 2004: 57). O estudo defende, recorrendo a autores relevantes, que o
lazer é visto como uma oportunidade para a auto-realização (Stebbins, 1982), auto-
desenvolvimento (Moscardo, 1999), educação (Gossales e Cooper, 1991) ou uma forma de
dar sentido à vida (Roberts, 1997).
Os resultados do inquérito relevam quatro importantes características da aprendizagem que
ocorre em espaços e equipamentos de lazer: a sensação ou fascinação da descoberta; é
multisensorial; é percepcionado como não exigindo esforço e permite a livre escolha.O
estudo conclui, ainda, que os espaços e equipamentos de lazer educacional e as práticas
interpretativas têm condições privilegiadas para oferecer ao público experiências únicas de
aprendizagem por divertimento que combinem educação e entretenimento num pacote
atraente.
Apesar de teoricamente, conforme sugere Greenhalgh (1989, citado por Packer e
Ballantyne, 2004: 55), ser possível identificar tanto um conflito como uma
complementaridade entre educação e entretenimento, os resultados deste inquérito
mostram que estes dois aspectos são complementares. Mais do que isso, foi possível
perceber uma muito forte sinergia entre eles, que define a natureza única da experiência da
aprendizagem através do divertimento.
De facto, confirma-se que o que é procurado pelo público que visita estes espaços e
equipamentos de lazer não é apenas a combinação de duas experiências distintas,
37
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
educação e entretenimento, mas sim, uma experiência em que a própria educação é
entretenimento, a descoberta é excitante e a aprendizagem é aventura.
Concluindo a abordagem sobre a educação e as suas novas formas e agentes, subscreve-
se a urgência da agenda proposta pela Unesco (1996), ao eleger a educação como a
prioridade do século XXI. Certo é, porém, que no actual contexto social, económico, cultural
e tecnológico globalizante da sociedade ocidental, os modos tradicionais de educação estão
em crise e exigem novas formas e agentes.
Perspectiva-se uma visão humanista da educação, a necessidade de centrar a atenção no
desenvolvimento humano, respeitando a individualidade, diversificando os percursos de
aprendizagem, estimulando a criatividade, a auto-estima e o afecto.
Os processos educativos terão que passar para lá da escola, fazer parte de um
compromisso permanente da sociedade. As novas formas de educação terão que respeitar
a especificidade das crianças na sua expressão e acção próprias e responder às suas
motivações e necessidades, tendo em conta os eixos estruturantes fundamentais da sua
cultura: a interactividade e a ludicidade.
38
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Capítulo 2: A convergência entre lazer, turismo e educação
39
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
40
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
2.1 - Lazer: “a querela das definições” 7
No intuito de descrever e analisar o conceito de lazer encontramos, mais uma vez, variadas
perspectivas académicas, defendidas por diversas correntes e áreas científicas,
naturalmente inspiradas pelos contextos civilizacionais associados à evolução da
humanidade ao longo dos tempos.
Neste ponto vai fazer-se uma revisão à literatura de referência, evidenciando as diferentes
abordagens teóricas ao lazer e procurando as respostas para algumas questões pertinentes
no âmbito deste trabalho, nomeadamente: O que é o lazer? Qual a sua importância no
contexto da civilização moderna ocidental? Quais as perspectivas de integração do lazer na
educação?
Segundo Costa (1996: 2), “o conceito lazer tem as suas origens no termo latim Licere que
significa ser livre (Jansen, 1977: 5,6; Torkildsen, 1992: 25), e no francês também de base
latina, na palavra Loisir que em termos gerais significa ser permitido (Jansen, 1977: 5,6;
Brightbill, 1964: 27; Torkildsen, 1992: 25) ”.
Da visão clássica, realça-se Aristóteles que defende que a felicidade é encontrada não no
divertimento mas sim no lazer e que um correcto uso do lazer é uma característica das
pessoas civilizadas. A sua interpretação de lazer, como um muito importante aspecto da
vida humana, tornou-se a base do conceito de lazer no mundo industrializado. Por outro
lado, Platão advogou que uma correcta utilização do tempo de lazer proporciona a
optimização do desenvolvimento e crescimento individual.
Alguns autores, como Sebastian de Grazia, citado por Dumazedier (1974: 26), consideram
que o lazer existiu em todas as civilizações, como um tempo fora do trabalho, onde lazer se
confundia com o jogo, a festa, o desporto e o treino militar, o culto e as práticas religiosas,
desportivas, educativas e culturais.
Ao longo da história, o lazer não existia efectivamente em contraponto ao tempo de
obrigação profissional, estando antes associado ao tempo livre e de ócio das classes e elites
sociais que nunca teriam nele a libertação das obrigações do trabalho, pois estas eram
7
Título do capítulo sobre o tema adoptado por Dumazedier (1974: 87).
41
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
reservadas aos escravos, aos camponeses e ao povo.
A ociosidade aristocrática até à revolução industrial não tinha origem na libertação do tempo
de trabalho mas era antes a substituição do trabalho reservado aos escravos e às classes
inferiores. Os filósofos gregos associavam a ociosidade à sabedoria e ao ideal de vida sem
trabalho. Por sua vez, este ideal de vida sem trabalho poderia criar o homem ideal: mais
sábio e mais saudável em corpo e em espírito.
SOCIEDADE PRIMITIVA - PROCESSO DE SUBSISTÊNCIA,
SEGURANÇA E NECESSIDADES BÁSICAS; CELEBRA-SE A 1ª CAÇADA
EGÍPCIOS (1500 A.C.) – LAZER NOS IMPÉRIO ROMANO (27 A.C.) – LAZER
ESTRATOS MAIS ELEVADOS. LAZER IMPORTANTE POR RAZÕES DE TRABALHO,
COMO ARTE E JOGOS DE GUERRA. 1 ZONAS DE BANHOS PÚBLICOS, FINS
POLÍTICOS, DESPORTO PARA MANTER A
EVOLUÇÃO 3 FORMA, LAZER DE MASSAS.
GRÉCIA ANTIGA (776 A.C.)
PROFISSIONALIZAÇÃO DOS IDADE MÉDIA / DAS TREVAS (SÉC. XII)
DESPORTOS, ENTRETINEMENTO 2 QUEDA DO IMPÉRIO ROMANO, SURGEM OS
PÚBLICO E COMPETIÇÕES, ÉTICA DO
LAZER.
4 MOSTEIROS, LAZER DO POVO NOS DIAS
SANTOS.
ÚLTIMO PERÍODO DA IDADE MÉDIA
(SÉC. XII/XIII) DO RENASCENÇA/ REFORMA (SÉC. XV/XVI)
DESNVOLVIMENTO DAS ARTES/
FESTIVAIS RELIGIOSOS, LUTAS DE 5 HUMANIDADES, CONSTRUÇÃO DE JARDINS/
GADO. LAZER ELITISTA (CAÇA, 6 PARQUES, DECLÍNIO DO PODER DA IGREJA.
MÚSICA, DANÇA)
REVOLUÇÃO INDUSTRIAL (1789)
MÁQUINA A VAPOR, ÊXODO RURAL, 7 APÓS A 2ª G.M. (SÉC. XX)
NECESSIDADE DE VIAJAR, + HRS DE 8 1AS. ASSOCS.NO DESENVOLVIMENTO/
TRABALHO/ – HRS DE LAZER, FORMA LAZER
INTERVENÇÃO NO LAZER E RECREIO, NÃO
DE CONTROLE SOCIAL, EXISTE ELITISMO/ QQUER PX C/ MÍN. DE
LAZER = MAIS PRODUÇÃO, MENOS CONDS. DE VIDA TEM DTO. AO LAZER,
NECESSIDADES, MAIS MOTIVAÇÃO. ANOS 60 – LAZER/ RECREIO – SECTOR
CHAVE NA ECONOMIA.
THOMAS COOK
1841
CEZAR RITZ
1850
SOCIEDADE MODERNA
Diagrama 2: Evolução histórica do lazer
Baseado nos apontamentos do Dr. Florim de Lemos,
Gestão de Espaços de Lazer e Recreio, G.P.T.
1º Semestre, 2003/04
Dumazedier (1974) considera no entanto que os traços específicos do lazer, distintivos do
ócio e do tempo livre, só colhem efectiva contextualização nas realidades sociais originadas
pela Revolução Industrial.
Os teóricos da psicologia defendem que o lazer deveria ser analisado numa perspectiva
holística de forma a percepcioná-lo, não apenas como atitude e actividade, mas também
como estado de espírito ou atitude espiritual, expressão individual e uso pessoal do tempo.
42
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Esta perspectiva holística alicerçou-se nas definições clássicas de Aristóteles em que o
lazer é caracterizado como sendo “uma descontracção após uma obrigação, ocupação (…),
o estado de espírito da contemplação”. Noutras palavras, lazer “pode ser definido como um
adjectivo que significa sem pressa, tranquilo ou sem noção do tempo (Neulinger, 1984: 4) e,
portanto, pode ocorrer em qualquer altura e em quase todas as situações“ (Costa, 1996: 3),
com duas especiais condições: a percepção de liberdade e a motivação para a acção.
Pieper, citado por Kelly (1996: 21) defende que “o lazer é uma atitude mental e espiritual e
não um simples resultado de condições externas (…) é em primeiro lugar uma atitude
mental, um estado de alma.”
Para Kelly (1996: 30) lazer é a "actividade escolhida para seu próprio benefício e pela
intrínseca satisfação que proporciona. As dimensões de liberdade e de satisfação intrínseca
são os elementos centrais na definição do lazer”.
Na visão holística de Kelly (1996: 416), o lazer integra três componentes, tempo
discricionário, actividade significante e experiência percepcionada, não podendo, portanto,
ser definido clara e profundamente por uma única dimensão. Envolve liberdade mais no
sentido de acção do que da ausência de constrangimentos, inclui decisão limitada aos
contextos sociais, temporais e espaciais, foca-se na experiência com orientação histórica e
de futuro, é fruto de uma motivação intrínseca mas com um significado e intenção de longa
duração, é existencial e social, imediato e processual, pessoal e político.
Kelly (1996: 417) recorre mesmo a oito metáforas para evidenciar a complexidade do
conceito e assim apresenta o lazer como: experiência imediata; inter-acção social; inter-
acção institucional; construção da identidade; condição da mente aberta à novidade;
controlo e conflito político e social; emoção e sentimento; oportunidade de desenvolvimento
pessoal e de novas competências pessoais.
Edington (1992: 4) também analisa o lazer considerando cinco perspectivas: como tempo
livre, como actividade, como estado de espírito, como estatuto social e como visão holística
do lazer a que conjuga todas as anteriores.
Voltando à investigação de Costa (1996: 3), é ainda identificado um segundo grupo de
académicos (Bolgov e Kalkei, 1974:1; Haun, 1962: 39-44; Charter of Leisure, 1972: 16;
Neumeyer e Neumeyer, 1958: Brightbill, 1961; Bonniface e Cooper, 1994: 1) defensores de
uma perspectiva orgânica que vêem o lazer como “um bloco de tempo fora do trabalho,
tempo extraordinário e suplente”.
43
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
As razões que levaram à adopção desta perspectiva foram fundamentalmente duas. Em
primeiro lugar, mesmo sendo difícil chegar a um consenso quanto à definição do lazer, o
senso comum associa-o a tempo livre e “a maioria da população considera o lazer
como…sem compromissos ou horas fora do tempo de trabalho“ (Jansen 1977: 5-6, citado
por Costa, 1996: 3). “Em oposição ao tempo de trabalho, o lazer é visto como surgindo de
complexos valores, como a auto-satisfação e a auto-valorização, que são alcançados
através da escolha própria de actividades de lazer que divertem mais” (Jansen 1977: 5-6,
citado por Costa, 1996: 3). Em segundo lugar, as “actividades de lazer” que ocorrem durante
e integradas nas horas de trabalho, como é sugerido na perspectiva holística, são vistas
agora na perspectiva orgânica, como escape, escape dos contextos reais do dia-a-dia,
através do entretenimento ou fantasia o que, não implica necessariamente, o envolvimento
de algum tipo de esforço físico.
Meurs e Kalfs (2000: 128, citados por Mokhtarian et al., 2004: 3) definem tempo de lazer
como todo o tempo que não é dedicado a assegurar o bem-estar futuro em sentido lato.
Esta definição não inclui, no entanto, as actividades associadas aos rendimentos, à gestão
do agregado familiar e à manutenção do bem-estar físico.
De acordo com Costa (1996: 4), a perspectiva orgânica é aquela que tem sido mais utilizada
como foi evidenciado num relatório da O.M.T. (1983) intitulado Desenvolvimento do tempo
de lazer e o direito a férias. Neste relatório, defende-se a ideia de lazer como um bloco do
tempo fora do tempo de trabalho ou simplesmente, como o tempo livre que os indivíduos
dedicam, tanto ao descanso, como à brincadeira e às actividades recreativas.
Tipo de tempo Como esse tempo é gasto
I: Existência (43%) Comer
Tempo dedicado à satisfação das necessidades Dormir
fisiológicas Cuidar do corpo
II: Subsistência (34%)
Trabalhar
Tempo dedicado a actividades remuneradas
III. Lazer Jogo, Recreio
Tempo disponível após a satisfação das necessidades de Descanso
Existência e Subsistência serem satisfeitas Obrigações familiares e sociais
Tabela 1: Ocupação do tempo nas vidas dos indivíduos, Adaptado da O.M.T., 1983: 12-14
Um dos mais reconhecidos teóricos do lazer, Joffre Dumazedier (1974: 88-93), na sua obra
Sociologia Empírica do Lazer, faz uma abordagem crítica a quatro das mais comuns
concepções do lazer.
44
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Lazer é um estilo de comportamento e não uma categoria de comportamento social e
assim, todo o comportamento pode ser um lazer, mesmo o trabalho profissional. Desta
forma, o lazer pode estender-se a todas as actividades e ser a origem de um estilo de
vida que pode contribuir para alterar a qualidade de vida (Quality of life). Este conceito,
segundo Dumazedier, uniformiza funcionalmente todas as actividades, confundindo lazer
e prazer, lazer e jogo, dificultando ainda a evidência da correlação inversa entre o tempo
de obrigação e o tempo de liberdade individual;
Lazer como um conceito de antítese e em oposição ao trabalho profissional, visto
fundamentalmente, numa perspectiva economicista, como reduzido à categoria de não-
trabalho. Dumazedier considera esta abordagem do lazer, redutora e limitativa,
esquecendo a heterogeneidade das realidades sociais, remetendo as obrigações
familiares e sociais para o âmbito do lazer e excluindo deste não-trabalho profissional
algumas categorias de trabalho informal, nomeadamente o trabalho doméstico;
Lazer como tempo liberto não só pelas obrigações profissionais mas também pelas
obrigações domésticas e familiares. Esta perspectiva de lazer, segundo Dumazedier,
esquece as obrigações sócio-espirituais e sócio-políticas, e enquadra as obrigações
sociais como actividades de lazer, retirando à dinâmica do lazer a influência das
instituições sócio-espirituais e sócio-políticas no controlo dos tempos livres;
Lazer como “único conteúdo do tempo orientado para a realização da pessoa como fim
último”, inscrito no tempo liberto pela sociedade e apropriado pelo indivíduo quando este
já desempenhou as suas obrigações profissionais, familiares, espirituais e políticas. É
um tempo desobrigado pela regressão dos diversos controlos institucionais, pela
evolução da economia e da sociedade e constitui-se como um “novo valor social da
pessoa que se traduz por um novo direito social, o direito dela dispor de um tempo cuja
finalidade é antes a auto-satisfação” Dumazedier (1974: 93).
Torkildsen (1992: 25-31) também associa o lazer aos conceitos de liberdade sem
obrigações, oportunidade para escolher, tempo livre após o trabalho e tempo livre após as
obrigações sociais e o sociólogo Dumazedier (1974: 57) subscreve esta última concepção
de lazer, como um novo direito social centrado na realização do indivíduo onde “a
subjectividade do indivíduo se torna em si mesma um valor social” (Richta, citado por
Dumazedier, 1974: 57) e emerge contra a ética economicista e o controlo das instituições
sociais.
45
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
A dinâmica social do lazer deriva não só dos progressos tecnológicos que aumentando a
produtividade, diminuem as horas necessárias ao trabalho profissional e familiar, mas
também do declínio das instituições familiares, religiosas e políticas e do seu controlo social
e ainda pela reclamação de liberdade individual que se manifesta, mesmo quando as
condições sociais e económicas são limitativas.
Mas, esta nova necessidade social pode tornar-se insignificante por falta de dinheiro e de
tempo e pode mesmo tornar-se desviante e marginal, passando a ser uma fonte de ‘evasão’,
de inadaptação e de delinquência social.
Neste tempo marcado pelas novas normas sociais, nem a eficiência técnica, nem a utilidade
social, nem o compromisso espiritual constituem a finalidade do indivíduo, mas sim a
realização e a expressão de si mesmo.
As características específicas do lazer, segundo Dumazedier (1974: 93-96) e que o
diferenciam e constituem a sua natureza social própria são:
Carácter liberatório: o lazer resulta de uma livre escolha. O lazer é a libertação de um
certo género de obrigações institucionais (profissionais, familiares, sócio-espirituais e
sócio-políticas).
Carácter desinteressado: o lazer não está fundamentalmente submetido a fim lucrativo.
Carácter hedonístico: o lazer é marcado pela busca de um estado de satisfação, tomado
como um fim em si.
Carácter pessoal: todas as funções do lazer respondem a necessidades do indivíduo
oferecendo a cada pessoa a libertação da fadiga, do tédio e a saída da rotina.
Dumazedier (1974: 92) identifica dentro do tempo de lazer quatro períodos: 1. o do fim do
dia, 2. o do fim-de-semana; 3. o do fim do ano (férias); 4. o do fim da vida (reforma) e,
alertando para as dificuldades de sistematização e classificação das actividades de lazer,
propõe alguns princípios baseados na sociologia do desenvolvimento cultural.
As actividades de lazer são perspectivadas como interesses culturais e classificadas
operacionalmente em dois grandes grupos: produtivas (realização, invenção, descoberta e
expressão, etc.) ou não produtivas (observação, contemplação e assistência) e em três
níveis conforme a profundidade e dimensão do conhecimento cultural associado.
Como conclusão, Dumazedier (1974: 236,237) explica que a dinâmica do lazer, baseada
nos três vectores: aumento do tempo liberto pelo trabalho, aumento do tempo liberto pelas
46
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
instituições e pela aspiração histórica da pessoa à expressão de si mesma, não domina
ainda a generalidade da humanidade e que a evolução do lazer não é simples e é ainda
bloqueada pelos poderes dos obstáculos económicos, políticos e sociais.
“Como relativamente a outros bens e serviços, também não existe igualdade de
possibilidades e democracia do tempo livre” (Baudrillard, 1995: 160).
Segundo Braudillard (1995: 163), “o repouso, o descanso, a evasão e a distracção talvez
sejam «necessidades», mas não definem, por si mesmas, a exigência própria do lazer, que
é o consumo do tempo. O tempo livre consiste talvez em toda a actividade lúdica que se
acumula, mas é, antes de mais, a liberdade de perder o seu tempo e eventualmente de o
«matar» e dispensar em pura perda”.
Numa sociedade em que a própria dinâmica comercial dos bens e serviços de lazer tende a
normalizar os padrões de lazer, uniformizando as suas práticas e expressões e onde o
sistema escolar está inadaptado à cultura do lazer, os indivíduos são limitados no que diz
respeito à sua expressão pessoal e livre, criativa e inovadora.
Passmore e French (2001), citados por Mokhtarian, et al (2004: 3) estudaram cento e trinta
adolescentes australianos, tendo concluído que para eles as actividades só poderiam ser
consideradas de lazer quando envolviam divertimento e resultavam da sua livre escolha.
Num estudo análogo, Tinsley, et al. (1993: 447), também citados por Mokhtarian, et al.
(2004: 3) concluíram serem necessárias quatro características para que a experiência de
lazer ocorra: livre escolha; satisfação intrínseca; máximo estímulo e requerer uma noção de
compromisso.
Também Kelly (1996: 30) defendeu a ideia de que o lazer é a actividade escolhida para seu
próprio benefício e pela intrínseca satisfação que proporciona e onde as dimensões de
liberdade e de satisfação intrínseca são os elementos centrais na definição do lazer.
“Diante da crise actual da escola, diante das novas reivindicações da juventude em prol da
autonomia da livre escolha, como poderia ela envolver somente estudos obrigatórios? Teria
de envolver necessariamente, sob pena de fracasso, o lazer da juventude” (Dumazedier,
1974: 243).
Iso-Ahola (1982: 379-394) defende que a limitação de oportunidades para brincar durante a
infância tem impacto significativo na capacidade cognitiva e na flexibilidade comportamental
47
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
do adulto perante o lazer, o que poderá reduzir a sua resistência psicológica durante toda a
sua vida. Este autor considera ainda que “só as actividades de lazer intrinsecamente
motivadoras podem tornar-se pessoalmente significantes”, que há uma “correlação positiva
entre a satisfação do lazer e a percepção de qualidade de vida” e que apesar do bloqueio da
cultura tradicional “mais cedo ou mais tarde os pais terão que aceitar a ideia de lazer como a
primeira fonte de motivação e auto-satisfação pessoal para os seus filhos”.
Em conclusão, parece haver na civilização ocidental uma trajectória sócio-cultural que
reforça a ideia do lazer numa perspectiva holística, considerando-o como elemento central
da vida quotidiana e a integração de múltiplas formas de lazer na vida profissional, familiar e
institucional como factor incontornável para o exercício da criatividade em liberdade e para a
auto-satisfação individual e social, conforme a primeira proposta de Dumazedier.
A tecnologia e também a economia, o sistema de valores, os limites dos recursos naturais e
energéticos são factores da actual mudança social que associados ao envelhecimento da
população, à reformulação das famílias, à autonomia feminina e à desregulação do trabalho,
num contexto de crescentes custos de vida, de maior valorização e consenso social sobre a
legitimidade e importância do lazer para a auto satisfação e desenvolvimento pessoal, irão
dar novas formas e estilos ao lazer e requerer novos tipos de oferta.
Falar de uma sociedade do lazer poderá parecer uma visão reducionista da sociedade, mas
o lazer é cada vez mais percepcionado como meio de satisfazer novas necessidades da
personalidade em todos os níveis culturais, observando-se o decréscimo dos valores do
trabalho no sentido clássico e a expansão dos valores do lazer, especialmente entre a
juventude.
Apesar de alguma influência da educação nos conteúdos do lazer, é certo que um dos
fundamentos da crise escolar está directamente relacionado com o controlo institucional da
escola, que tem afastado das suas práticas pedagógicas os valores do lazer, bloqueando o
desenvolvimento livre dos indivíduos que se recusam ao trabalho escolar.
48
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
2.2 - O turismo e as suas tendências actuais
“Travel is additive… Globe trotting destroys ethnocentricity and
encourages the understanding and appreciation of various cultures.
Travel… changes people, and we like the results.
Many travellers assimilate the best points of different cultures into their own character.”8
A definição de turismo é problemática dado que a sua natureza exige uma multiplicidade de
perspectivas sociais, económicas, culturais, políticas e antropológicas.
Recorrendo à bibliografia relevante, vai procurar-se responder não só à questão do que é o
turismo, mas também procurar identificar, tendo em conta as condições da sociedade
ocidental, as tendências marcantes para o turismo contemporâneo.
Do ponto de vista histórico, o turismo é de facto uma actividade humana ancestral e não um
fenómeno recente, “a novidade reside na sua extensão, na multiplicidade de viagens e no
lugar que ocupa na vida das pessoas. Actualmente, não é mais a expressão das
necessidades individuais e sim daquelas colectivas, nascidas dos novos modos de vida da
nossa sociedade tecnicista e urbana. Tampouco é um movimento exclusivo das classes
privilegiadas, como predominantemente na época passada. Trata-se de um movimento sem
classes que, graças à política de pacotes turísticos, proporciona a possibilidade de viajar a
quase todas as pessoas dos países industrializados tornando-se, cada vez mais, uma
reivindicação e um direito do homem civilizado” (Ruschmann, 2002: 13, citado por Dias,
2003: 30).
Numa visão alargada do turismo, Alexandre, o Grande (336-323 AC), Zhang Qian (106 AC),
Xuanzang, (629-645 DC), Marco Pólo, (1271-1295) Abu A.M.Ibn Battuta (1325-1354) podem
ser vistos como os viajantes históricos da Antiguidade; a Rota da Seda, e as Rotas
marítimas das Especiarias e da Porcelana, como os primeiros grandes itinerários turísticos
religiosos, científicos, culturais e de negócios, entre os grandes pólos dominantes da
civilização mundial: a Europa, a Índia e a China.
8
Rick Steves in Asia Through the Backdoor, citado por Bodger, D.H. et al. (2004).
49
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Cunha (1997: 3,64-67) e Dias (2003: 45-47) referem que o termo turismo nasce
efectivamente no decorrer do século XVIII, quando se tornou hábito, entre os privilegiados
jovens ingleses e mais tarde também entre os americanos, na sua condição de aristocratas
ou ricos, preencher o período de tempo entre a universidade e o início das suas carreiras
com uma extensa viagem pelo continente europeu. Este conjunto de viagens foi então
apelidado de Grand Tour e estendia-se desde apenas alguns meses até alguns anos.
Estas deslocações exploratórias permitiam aos jovens e aos artistas inspirarem-se,
cultivarem-se, enaltecerem-se e tomar contacto com as suas reminiscências culturais,
originárias das culturas grega e que perpassavam até à cultura italiana, marcada pela
democracia e pelo renascentismo. Neste contexto, aprofundavam áreas de conhecimento
como a filosofia, a política, a cultura, a arte e o património histórico. Os tempos eram
dedicados a visitas às grandes atracções históricas e culturais, a períodos de estudo e
frequência dos círculos intelectuais e sociais que contribuíam para a maior abertura de
espírito, urbanidade e sabedoria destes jovens adultos (Cunha, 1997: 3,64-67; Dias, 2003:
45-47).
Um dos mais populares destinos era a Itália, pelo seu valioso património de monumentos
românicos, por nela se concentrarem centros de conhecimento de prestígio mundial e por se
tratar de uma sociedade de abastados mercadores que coleccionavam as riquezas do
mundo, adoravam arquitectura e tinham um muito forte sentido de responsabilidade pública.
Um outro país ao qual estes viajantes dedicavam especial atenção era a França que se
destacava por ser um centro do estilo e da sofisticação, atraindo os artistas e onde os
jovens se despiam dos seus rudes hábitos, para se polirem de civilização e boas maneiras
(Cunha, 1997: 3,64-67; Dias, 2003: 45-47).
Um dos mais famosos relatos destas aventuras pela Europa, datado de 1867, é da autoria
9
de Mark Twain que fez uma Tour pela Europa e pelo Mediterrâneo oriental. Patrocinado
pelo jornal Alta California enviava regularmente relatos da suas jornadas que mais tarde
viriam a ser publicados no livro “A inocência no estrangeiro ou Os progressos dos novos
peregrinos”.
A título de curiosidade e como fiel retrato do que realmente era experienciado nestas quase
9
História da Grand Tour desenvolvida por um grupo de estudantes de literatura da Universidade de Michigan, no âmbito do
projecto educativo “A Inglaterra do século XXVIII” do Museu Flagler, Palm Beach, Florida.
50
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
cruzadas em busca das raízes culturais da civilização ocidental, deixamos um excerto de
uma das cartas de Mark Twain.
Carta de Alta Nº2 – Gibraltar, 30 de Junho de 1867
[Clássica ignorância]
“Estamos a aproximarmo-nos dos famosos Pilares de Hércules e já se avistavam as
Montanhas dos Macacos, situadas em África. A outra, o grande rochedo de Gibraltar,
estava ainda por chegar.
Os antigos consideravam os Pilares de Hércules como uma referência, em termos de
navegação e também o fim do mundo. A informação que estes antigos não possuíam
era de grande volume. Pensem nas crianças de Israel, deambulando pelo deserto
em vez de o atravessarem; pensem em Pedro a tentar caminhar sobre a água;
pensem em José sobrepondo-se a seu irmão.
Até os profetas escreveram livros, actas de livros e epístolas atrás de epístolas e no
entanto, nunca suspeitaram da existência de um grandioso continente do outro lado
do oceano. (…)”.
Em 1822, o The Shorter Oxford English Dictionary apresentou uma das primeiras
conceptualizações de turismo. Nele, turismo é definido como “a teoria e prática de viajar,
viajando por prazer” (Dias, 2002: 27) e em 1910 um economista austríaco, Hermann Von
Schullern zu Schattenhofen (citado por Wahab, 1991: 16 in Dias, 2002: 27) caracterizava o
turismo como o “somatório de operações, principalmente de natureza económica,
directamente relacionadas com a entrada, estada e movimento de estrangeiros dentro e fora
de um certo país, cidade ou região”.
A primeira definição formal de turismo, produzida em 1942, por Hunziker e Krapf, e mais
tarde adoptada pela Association Internationale des Experts Scientifiques du Tourism,
considera o turismo como um “conjunto de relações e fenómenos originados pela
deslocação e permanência de pessoas fora do seu local habitual de residência, desde que
tais deslocações e permanências não sejam utilizadas para o exercício de uma actividade
lucrativa principal, permanente ou temporária” (Cunha, 1997: 8).
Cunha (1997: 8), considera esta definição incompleta por não sublinhar importantes
aspectos sociológicos. Na sua opinião, os sociólogos percepcionam o turista como “o
homem que se desloca para satisfazer a sua curiosidade, o desejo de conhecer, para se
cultivar e evadir, para repousar ou para se divertir num meio diferente do que lhe é habitual”.
51
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Defende ainda que “são estes aspectos recreativos, educativos e culturais que levam a
considerar o turismo não apenas como um fenómeno económico mas, antes de tudo, como
um fenómeno social ”.
Mathieson e Wall (1982, citados por Cunha, 1997: 9) apresentam uma perspectiva dinâmica,
considerando o “turismo como fluxo e/ou movimento temporário de pessoas, para destinos
fora dos seus locais normais de trabalho e residência, as actividades realizadas nesse
destino e as facilidades criadas para satisfazer as suas necessidades” e para Kelly (1985,
citado por Williams e Shaw, 2002: 5), “o turismo é recreio em movimento, envolvimento em
actividades longe de casa e em que a viagem é, pelo menos, uma das satisfações
procuradas”.
Jafari (1989: 437, citado por Rodrigues, 2001: 5) propõe uma abordagem sistémica do
turismo que deverá “ser considerado, por um lado, como fenómeno sócio-cultural e por outro
lado como uma indústria, composta por um sistema gerador de turistas e por um sistema
receptor de turistas assente numa relação de total interdependência”. Rodrigues (2001: 4)
apresenta ainda, no contexto das abordagens sistémicas, a definição de Bull (1995: 1) que
analisa o turismo como “fenómeno social, considerado como uma actividade humana, que
envolve, além do comportamento humano, uma utilização de recursos e uma interacção
com outros indivíduos, economias e ambientes”.
Bernecker (1965), citado por Cunha (1997: 9) simplifica a questão definindo turismo como “a
soma das relações e dos serviços que resultam de uma alteração de residência, temporária
e voluntária, não motivada por razões de negócios ou profissionais”.
O turismo tornou-se, a partir dos finais do século XIX, objecto de estudo das ciências
humanas e, citando Rodrigues (2001, 6), “é possível assim inferir que a ideia de produto
científico está intimamente relacionada com a construção de um objecto de estudo”; “é neste
contexto que a economia, a psicologia, a sociologia, a geografia, a história, entre outras
ciências sociais, foram construindo o seu próprio objecto científico da realidade social
estudada. Não significa que a realidade para cada um delas seja diferente. Cada uma
estuda a realidade consoante a sua perspectiva, conferindo uma abordagem
pluridimensional sobre a mesma” Rodrigues (2001: 7).
“Nenhuma disciplina, isoladamente, poderá ajustar, estudar e compreender o turismo” (Jafari
52
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
e Graburn, 1991: 7, citados por Rodrigues, 2001: 7). Nesta visão holística, o turismo é um
fenómeno simultaneamente económico, psicológico, antropológico, cultural e social.
Em 1991, a Organização Mundial de Turismo e as Nações Unidas apresentaram a sua
definição operativa de turismo: “Turismo é o conjunto de actividades praticadas pelos
indivíduos durante as suas viagens e permanências em locais situados fora do seu ambiente
habitual, por um período contínuo que não ultrapasse um ano, por motivos de lazer,
negócios e outros” (OMT, 1995: 12).
Esta definição, exige a clarificação de conceitos como ambiente habitual e local de
residência. Assim, “ambiente habitual é operacionalmente definido em termos estatísticos
usando vários critérios como, mínima alteração de localidade ou território administrativo,
mínima duração da ausência do local habitual de residência, mínima distância viajada, e
explícita exclusão de viagens de rotina” (OMT, 1995: 13). O conceito de local de residência
de uma pessoa está associado ao local onde a pessoa vive há pelo menos um ano (12
meses), ou há menos tempo, desde que tenha a intenção de voltar, dentro de 12 meses,
para lá viver (OMT, 1995: 13).
As organizações mundiais associadas ao turismo iniciaram um processo de classificação do
conceito de turista que, desde 1937, tem vindo a sofrer algumas evoluções.
Hoje, é aceite internacionalmente a definição das Nações Unidas, revista e ampliada pela
Organização Mundial de Turismo em 1991, na Conferência de Otava, que delimita os
conceitos de visitante como toda a pessoa que se desloca temporariamente para fora da
sua residência habitual, quer seja no próprio país ou no estrangeiro, por uma razão que não
seja a de aí exercer uma profissão remunerada, turista como todo o visitante temporário que
permanece no local visitado mais de 24 horas, e excursionista como todo o visitante
temporário que permanece menos de 24 horas fora da sua residência habitual (OMT, 1995:
21).
Nesta definição, a OMT (1995: 22), identifica como motivos de viagem: lazer, recreio e
férias; visita a amigos e familiares; negócios e profissionais; saúde; religiosos e outros.
Estes motivos evidenciam a visão do turismo para lá do lazer quando enquadram o turismo
de negócios, de visita a amigos e familiares, de saúde e religioso, conforme realça
Henriques (2003: 25): “de facto, nem todo o turismo pode ser visto como lazer e algumas
definições de turismo incluem viagens de negócios e visitas de estudo”; ”o que evidencia
53
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
que o turismo se estende para além das fronteiras do tempo livre e penetra nos domínios
dos tempos dos compromissos sociais e dos tempos coercivos do trabalho”.
“O turismo é a actividade humana mais exposta às mudanças que ocorrem na sociedade e
também aquela que melhor as reflecte” (Cunha, 2001: s/p).
A sociedade contemporânea, caracterizada pela globalização económica, pela turbulência
social e pela massificação tecnológica apresenta condições de grande variabilidade e
mutação rápida nos comportamentos e condições sociais.
Os principais factores que influenciam as decisões da procura turística são de natureza,
social, económica, política, tecnológica e ambiental, conforme evidencia o modelo de análise
STEEP, apresentado no relatório Tourism of Tomorrow do European Tourism Research
Institute (Nordin, 2005: 1-99).
No âmbito da análise produzida por este grupo de especialistas, foram indicados como
factores que actualmente mais influenciam a natureza da procura turística os seguintes:
sociais – aumento da esperança de vida, crime e terrorismo, valores, cultura e família e
individualismo; tecnológicos – desenvolvimento e uso das TIC, transportes a baixos custos e
energias alternativas; ambientais – catástrofes ambientais e naturais, aquecimento global do
planeta e risco de pandemias; políticos – ameaça do terrorismo e democratização global;
económicas – preço dos combustíveis e enriquecimento global.
Modelo STEEP
Tecnológicos
Sociais Turismo Ambientais
e
Viagens
Políticos Económicos
Diagrama 3: Modelo STEEP - Tourism of Tomorrow, European Tourism Research Institute
54
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Estes factores induzem mudanças nas motivações e aspirações dos turistas, perspectivando
um novo perfil para o turista (Cabrini, 2005: 29): independente, experiente, orientado para a
tecnologia, exigente, activo, aberto a outras culturas, sensível ao ambiente e à sociedade,
com consequentes alterações comportamentais.
Antigo Novo
Inexperiente Maduro
Homogéneo Híbrido
Previsível Espontâneo
Luxúria do sol Para lá do sol
Queimar ao Sol Manter a roupa
Rigoroso nas contas Querer ser diferente
Superioridade Aproximação
Escape Extensão da vida
Tabela 2: Comportamento dos turistas ocidentais (Poon, 2001, citado por Nordin, 2005: 47)
O comportamento humano, espelha a evolução cultural dos individuos e das sociedades,
por isso a distinção adoptada por Poon entre o antigo e o novo turista, procura realçar
apenas uma trajectória cultural. Percebe-se o sentido dinâmico desta evolução, sendo certo
que ambos os perfis hão-de coabitar no tempo e em cada turista, pois a natureza humana
não pode ser espartilhada no monolitismo de qualquer perfil.
A OMT (Cabrini, 2005: 20) prevê, entre 2000 e 2020, como principais os seguintes
segmentos do mercado turístico:
Sol e Praia Aventura
Turismo da Natureza Turismo Cultural
Turismo Rural Cruzeiros
Parques Temáticos Reuniões e Conferências
Turismo do “Bem-Estar”
Tabela 3: Previsões para os pincipais segmentos do mercado turístico (OMT; Cabrini, 2005:20)
As principais tendências chave para 2005, identificadas pelo English Tourism Council citado
por Nordin (2005: 18), e que espelham também algumas das mais importantes alterações
observadas nos últimos anos são:
Apesar da crescente preocupação, em alguns mercados, pela segurança, é muito
claro que a população se está a acostumar a viver no mundo inseguro;
As pessoas continuam a preferir as viagens curtas e mais frequentes, mas a procura
por viagens de longo curso está em rota de crescimento;
55
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
O crescimento na procura por companhias aéreas de “baixo custo” tem atingido
níveis sem precedentes, sendo muito provável que se mantenha indestrutível à
medida que novas companhias vão surgindo;
Os turistas procuram cada vez mais a “experiência”, em detrimento por exemplo, da
procura por uma actividade específica ou ainda a selecção de um destino particular;
A procura por experiências autênticas, incluindo a cultura local e a proximidade com
a natureza, continua a crescer. Também em crescendo de importância estão os
programas de bem-estar e os programas educacionais, permitindo às pessoas que
melhorem os seus conhecimentos enquanto gozam as suas férias;
Os consumidores são menos leais aos fornecedores e são também ainda
surpreendentemente imprevisíveis, podendo então combinar estadas em luxuosos
hotéis de cinco estrelas com voos em companhias de “baixo custo” ou ainda optarem
um dia por simples refeições de fast-food e noutro por refeições em que deverão
usar guardanapos de linho branco;
Os operadores turísticos de topo acreditam que as viagens “tudo – incluído” estão
longe de se tornarem obsoletas e que até a procura pelas viagens de pacote parcial
está a aumentar. Apesar de tudo isto os vencedores do futuro serão os destinos e os
fornecedores que desenvolverem as suas páginas e serviços na Internet permitindo
as reservas on-line e a construção dinâmica de pacotes.
Recorrendo, mais uma vez, ao European Tourism Expert Group, importa sublinhar que os
Baby Boomers, nascidos entre 1943 e 1960 e a Geração X, nascidos entre 1960 e 1980,
estão especialmente sensíveis e apetentes para as viagens em família nomeadamente
intergeracionais, em clara distinção da Geração Y, nascida entre 1980 e 2000, que se
caracteriza por um grande individualismo, actividade e elevada dependência das
tecnologias. (Nordin, 2005: 26-32).
O relatório Tourism of Tomorrow do European Tourism Research Institute (Nordin, 2005: 26-
32), defende, ainda, que uma das mais fortes tendências nas viagens em família está
relacionada com a escolha de destinos e actividades associadas ao entretenimento e a
56
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
fantasia. Estas escolhas parecem ser muito motivadas por best-sellers como o Senhor dos
Anéis e as Aventuras do Harry Potter.
É ainda sublinhado que os Tweenies, crianças com idades entre os cinco e os doze anos,
são um importante grupo, embora muitas vezes pouco considerado, e que se confirma hoje
que desempenham um papel dominante na escolha dos destinos de férias da família,
nomeadamente pelo seu uso e domínio da internet na procura e aquisição de informação e
de serviços turísticos on-line, tendo-se tornado os mais informados conselheiros nas viagens
das famílias.
Em conclusão, tendo analisado algumas diferentes perspectivas da definição do turismo,
confirma-se a sua complexidade e problemática.
Subscreve-se mesmo a perspectiva de Tribe (1997, citado por Henriques, 2003: 21) que
perante o caleidoscópio conceptual do turismo, avança com o conceito de indisciplina do
turismo. Indisciplina, no sentido em que o estudo do turismo não aceita conter-se dentro de
uma única e bem delimitada disciplina científica, antes convoca um conjunto pluridisciplinar
de áreas científicas para a sua completa análise e caracterização.
Também, subscrevendo Cunha (2001, s/p) e perante a turbulência da civilização, estamos
certos que diferentes visões e novas perspectivas sobre o turismo hão-de emergir, não
fosse o turismo tão profundamente ligado à humanidade.
Quanto às tendências de evolução do turismo, releva-se que a natureza do novo turista,
estando em linha com as novas marcas sociais e culturais, anuncia também novas
motivações especialmente ligadas à inovação, à educação, à experiência e à autenticidade,
evidenciando uma subida na pirâmide de Maslow para as necessidades intelectuais e
espirituais do Homem e um regresso às primeiras e mais fortes motivações, que
ancestralmente levavam o Homem a viajar.
57
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
58
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
2.3 – Turismo educacional: conceitos e perspectivas
Travel, in the younger sort, is a part of education;
In the elder, a part of experience…10
O percurso da investigação teórica conduz-nos agora à intersecção alvo do nosso estudo, a
área do turismo educacional. Considerando esta tipologia de turismo, relacionada com as
questões educacionais, tentar-se-á perceber o percurso evolutivo que esta motivação tem
percorrido e o papel que tem hoje no mundo do turismo.
Neste contexto, vai procurar-se responder a algumas questões fundamentais como: O que é
turismo educacional? Que modos e configurações apresenta? Quais as perspectivas para
este segmento?
Na classificação da OMT (1995: 49;121), o objectivo da visita ou viagem é uma
característica fundamental pois representa a motivação na base da decisão de efectuar essa
visita ou viagem. Com base nas motivações dos turistas o mercado é segmentado em: lazer,
recreio e férias; visita a amigos e familiares; negócios e profissional; saúde; religiosos e
outros. No entanto, os turistas viajam não apenas por uma única razão / motivação mas sim
por um conjunto de motivações, donde se destacam uma ou mesmo duas, como principais.
O turismo educacional envolve as viagens turísticas que têm por motivação principal a
educação.
O viajante sempre sofreu melhorias através daquelas que são parte essencial do acto de
viajar: as experiências. Viajar por questões educacionais sempre teve uma longa história.
O turismo educacional não é nada de muito recente, existe há séculos. As suas raízes
históricas estão, normalmente, associadas à Grand Tour, quando a educação era uma das
razões fundamentais para viajar, sendo considerada como parte integrante da educação dos
aristocratas e um estímulo único para os artistas, embora durante os séculos XVIII e XIX,
essa oportunidade fosse apenas um privilégio das elites (CTC, 2001: 6).
A Grand Tour foi importante exactamente porque dava a oportunidade, aos membros activos
das elites das sociedades, de desenvolverem os seus conhecimentos acerca de outras
10
Francis Bacon (1561), citado por Bodger, D.H. et al. (2004).
59
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
culturas chave no mundo e também de aprenderem uma ou mais línguas. Tudo isto era
importante para o seu desenvolvimento cultural – os dicionários definem cultura como
“desenvolvimento (físico ou mental); desenvolvimento intelectual”. Tornava os cidadãos mais
bem sucedidos nas suas vidas profissionais, pois tinham assim a oportunidade de
compreender as pessoas e as culturas das pessoas com quem necessitavam trabalhar pelo
mundo todo (Bodger, et al. 2004: 1).
Mas uma visão menos fechada e ancorada no Ocidente revela mais longínquas, no tempo e
no espaço, relações entre as viagens e a educação.
Está documentado o papel, que remonta ao século III, AC, dos mosteiros budistas como o
de Abhayagiri, no Sri Lanka, destino de peregrinação de monges orientais e da sua
influência na difusão de conceitos religiosos, artísticos, técnicos e científicos explícitos em
Gandhara, na parte mais ocidental da Índia, em Pala, na Ásia Central e em Gupta, na China
(Voûte, 2000, citado por Voûte, 2005, s/p). Estão datadas do período neolítico, as trocas de
objectos, mercadorias e tecnologias, entre a Mesopotâmia e os territórios da Índia e da
China. Desde tempos ancestrais que as rotas marítimas das especiarias e da porcelana
ligavam o Sudoeste Asiático ao Mar Vermelho.
As caravanas de mercadores da rota da seda nas suas viagens desde o Japão e da China
até Samarkanda, na Ásia Central e desde a Índia até Roma e Bizâncio, estabelecendo-se e
envolvendo-se com as populações locais, transportavam, para além das suas mercadorias,
os conhecimentos de medicina, engenharia, matemática, geografia, astronomia e filosofia,
iniciando a fundação do diálogo civilizacional entre o Leste e o Oeste. Ao longo de dois mil
anos, as cidades oásis da Ásia central testemunharam esta fervilhante troca cultural (Glover,
1998;2000, citado por Voûte, 2005, s/p).
Desde a Antiguidade até á Idade Média, monges e peregrinos viajaram, lado a lado, com os
mercadores, instruindo-os nos segredos do taoismo, budismo, zoroartrismo, judaísmo,
cristianismo, confucionismo e islamismo. As caravanas estabeleciam-se temporariamente
nos mosteiros budistas e cristãos, centros de saber e conhecimento, onde iriam nascer as
primeiras universidades formais, como Nalanda, Oxford e Bolonha. (Voûte, 2000, citado por
Voûte, 2005, s/p).
Graças à globalização do turismo e da educação, às mudanças nos hábitos de lazer e ao
maior acesso aos modos formais e informais da educação ao longo da vida, actualmente as
60
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
pessoas de todas as idades têm a oportunidade de participar num largo leque de actividades
de turismo educacional.
Hoje, o termo viagem educacional pode significar qualquer tipo de oportunidade de viagem:
desde as crianças em idade escolar que vão numa viagem de educação para um cruzeiro
no Mediterrâneo com um professor convidado ou um estudante de línguas que estuda no
estrangeiro ou mesmo um curso para adulto cujas áreas de estudo envolvam viagens até
um local ou locais específicos (Bodger, et al. 2004: 1).
Um dos elementos chave dos programas das viagens educacionais relaciona-se com o facto
de se tratar de uma experiência, num determinado destino, com base nos requisitos
educacionais e de aprendizagem. O destino, o itinerário e a contribuição de recursos
humanos especialmente qualificados exigem uma cuidada programação para ser garantida
a plena satisfação das necessidades de aprendizagem.
As viagens educacionais deste tipo apenas começaram realmente a desenvolver-se a partir
da década de 60 do século passado. Inicialmente resumia-se a uma das funções das
instituições de ensino, como por exemplo as actividades extra-curriculares nas
Universidades que recorriam a saídas de campo de disciplinas leccionadas durante os
meses de Inverno e de forma a que os estudantes pudessem experienciar, eles próprios, os
objectos centrais das disciplinas em estudo (Bodger, et al. 2004: 1).
Actividades Turismo Oportunidades
educativas Educacional de viagens
qualificadas divertidas
Experiências sociais estimulantes e
pessoalmente enriquecedoras
Diagrama 4: Turismo educacional, Canada Tourism Commission (2001: 11)
O turismo educacional é uma “mistura mágica de autênticas e altamente qualificadas
oportunidades que os visitantes têm para experienciar e interagir com as maravilhas
culturais, históricas e naturais de uma determinada área, atracção ou evento” (CTC, 2001:
5). Esta forma de turismo de interesses especiais combina actividades de aprendizagem
61
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
com as oportunidades de viajar por prazer. O turismo educacional oferece uma experiência
socialmente satisfatória, promovendo a auto-valorização.
Viagens de estudo, intercâmbios académicos, conferências e saídas de campo são
exemplos de diferentes produtos de turismo educacional, existentes no mercado. Estes
variam consoante o objectivo, duração e quantidade de aprendizagem formal e estruturada,
assim como no suporte de que necessitam do sector do turismo. No entanto, todos eles têm
um aspecto em comum: cada linha de produtos vai ao encontro às necessidades de um
grupo específico de learning travellers – pessoas que se divertem, tendo a aprendizagem
como principal motivação (CTC, 2001: 5).
As pessoas que recorrem às viagens educativas caracterizam-se por terem elevados níveis
de educação, serem adultos financeiramente seguros, abertos e curiosos em relação ao
mundo. São consumidores bem informados e esclarecidos, exigentes da qualidade que
procuram e estão dispostos a pagar por oportunidades de turismo educacional que
respondam às suas necessidades e expectativas.
Muitas destas pessoas estão associadas em grupos com interesses comuns, como
organizações de alumni, sociedades de amigos ou grupos com interesses especiais (CTC,
2001: 11).
Viajar e aprender são actividades complementares. “Juntas podem tornar-se na aliança
perfeita de visitas com valor acrescentado e de oportunidades de descoberta, que podem
ser combinadas” (CTC, 2001: 14).
Os turistas escolhem férias que incluam experiências educativas para terem a oportunidade
de aprender com os especialistas, partilhar os seus próprios conhecimentos, aprender novas
atitudes, usufruindo da autenticidade de experiências únicas em zonas tanto rurais como
urbanas ou mesmo em comunidades remotas.
Rappolo (1996: 91, citado por Carneiro e Malta, 1997: 2) observou que “à medida que os
países se tornam mais dependentes entre si, o seu sucesso, crescimento e prosperidade
económica passará a depender grandemente da capacidade de duas específicas indústrias,
a educação e o turismo – de forma a que criem as necessárias avenidas de suporte aos
intercâmbios internacionais e de educação”.
“Indo mais além, as mudanças, tanto na educação como no turismo, dão origem a
processos de convergência, em que a educação estimula o desenvolvimento do turismo e
62
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
os modos formais e informais das aprendizagens se tornam numa cada vez mais central
componente da experiência turística” (Carneiro e Malta, 1997: 2).
Ritchie (2003: 18, citado por Carneiro e Malta, 2005: 4) conceptualiza o turismo educacional
como “actividades turísticas desenvolvidas por aqueles que, em férias, pernoitam pelo
menos uma noite e também aqueles que fazem excursões em que a educação e a
aprendizagem são o primeiro ou segundo motivo para participarem nela”.
“O turismo educacional pode assumir formatos independentes ou formalmente organizados,
podendo também ser desenvolvido, numa variedade de contextos, naturais ou
humanamente modificados” (Carneiro e Malta, 1997: 2).
Mitchell (1998: 176) considera no entanto que “apesar de já se considerar a educação como
uma importante motivação para o turismo, a verdade é que pouco se sabe sobre as
aprendizagens turísticas.”
Exemplos notórios de turismo educacional são os programas de Elderhostel que foram
criados em 1975 por dois grandes visionários – Marty Knowlton and David Bianco.
O conceito de Elderhostel, lançado inicialmente nos Estados Unidos, foi inspirado nos
programas educacionais europeus pensados pelas comunidades locais, grupos de
artesanato e também universidades, explorando o potencial das universidades que
combinavam alojamento e ensino. Os programas Elderhostel são dirigidos a pessoas com
cinquenta e cinco anos ou mais, oferecendo estimulantes programas de aprendizagem com
alojamento confortável e de baixo custo” (Bodger, et al., 2004: 2).
Hoje, os 8 000 programas Elderhostel e a sua extensão Road Scholar, criada em 2004,
recrutam académicos, profissionais e especialistas locais, oferecendo aventuras de
aprendizagem e estendem-se por 90 países envolvendo anualmente cerca de 160 000
turistas, embora tenham deixado de utilizar as infra-estruturas de alojamento das
universidades.
“As viagens de estudo são desde há muito, componentes das práticas escolares, mas as
alterações, que desde a segunda guerra mundial, a vida nas cidades tem vindo a sofrer, (...)
transformou radicalmente o papel dessas viagens de estudo na vida dos mais jovens”
(Nespor, 2001: 1).
63
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Nespor conduziu um estudo, entre 1992 e 1994, com alunos de turmas do ensino básico,
em que funcionando como participante, meramente observadora, assistiu e gravou as
reuniões de pais, professores e sessões educativas que decorriam na preparação e no
decorrer de viagens de estudo. “Falei informalmente com os miúdos, entrevistei-os
individualmente e em grupo, durante os almoços com eles, e, com os da 4ª classe, ajudei
vários nas suas pesquisas individuais”; “a minha participação nas viagens de estudo iniciou-
se quando um professor me convidou a acompanhá-los (...), no processo de ver um lado
diferente dos miúdos” (Nespor, 2000: 29).
“As viagens de estudo permitem aos jovens que socializem fora dos espaços da escola (e
também nas longas viagens de autocarro entre os diferentes locais que visitam) e permite-
lhes ainda levarem para casa pequenas partes dos espaços visitados para mostrarem aos
amigos ou aos pais, coleccionando símbolos que têm habitualmente a forma de fotografias,
postais ou recordações (Urry, 1992) o que também lhes permitirá simplesmente reviver a
experiência, sempre que quiserem” (Nespor, 2001: 30).
“É muito provável, tal como McLaughlin et al (1994: 107) sugerem, que uma significativa
oportunidade a que os jovens dos meios urbanos aspiram, é a libertação das fronteiras
impostas pelo seu isolamento, imaginar e experienciar coisas nunca antes vistas ou
imagináveis“ (Nespor, 2001: 39).
Entre outros aspectos, a compreensão sobre as aprendizagens turísticas poderá dar novas
pistas para as genuínas razões pelas quais as pessoas viajam.
“Parece irrefutável que a educação se tornará na motivação líder do século XXI. O conceito
de educação está embebido no desejo de experienciar a história, a cultura e as belezas
naturais dos países de destino” (Mitchell, 1998: 176).
São várias as teorias motivacionais relevantes para a educação através do turismo. Mayo e
Jarvis (1981: 156) sugerem que viajar pode satisfazer as necessidades intelectuais, i.e. a
necessidade de aprender e perceber, em coerência com os conceitos de Maslow (1943:
370-396).
É um meio de preencher a necessidade de conhecimento, permitindo-nos recolher factos
sobre o mundo à nossa volta, de uma forma que nem os livros nem as revistas podem. Ler
apenas sobre o mundo, não é suficiente. Temos forçosamente que o ver por nós próprios”
(Mitchell, 1998: 177).
64
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
De acordo com Iso-Ahola, (1983: 50-51 citado por, Mitchell, 1998: 177), as pessoas
procuram recompensas e ganhos psicológicos (intrínsecos) quando decidem envolver-se e
comprometer-se com actividades de lazer.
“As maiores compensações pessoais desejadas são: a autodeterminação, o sentimento de
valor e capacidade, a exploração, o desafio, a aprendizagem e a descontracção” (Iso-Ahola,
1982;1983, citado por Barton, 1994: 22 in Mitchell, 1998: 177).
Os caminhos percorridos em busca dos conceitos e das perspectivas de evolução da
educação, do lazer e do turismo conduzem-nos à evidência da convergência procurada.
Confirmam-se dinâmicas para uma cultura de educação ao longo da vida, como chave que
dará acesso ao século XXI, adoptando os quatro grandes pilares: aprender a saber,
aprender a fazer, aprender a viver em conjunto e aprender a ser (Unesco, 1996).
Quando emergem as crianças como agentes sociais, com voz e cultura próprias, é
determinante não esquecer que as suas necessidades, apetências e motivações são
marcadas pelos eixos mais relevantes da ludicidade e da interactividade, perspectivando-se
a necessidade de os ter em conta, nos caminhos para a nova educação.
A visão humanista da educação obriga a centrar a atenção no desenvolvimento humano,
respeitando a individualidade, diversificando os percursos de aprendizagem, estimulando a
criatividade, a auto-estima e o afecto. Os processos educativos terão que passar para lá da
escola, fazer parte de um compromisso permanente de toda a sociedade.
Confirma-se, na civilização ocidental, uma trajectória sócio-cultural que reforça a ideia do
lazer numa perspectiva holística, considerando-o como elemento central da vida quotidiana
e a integração de múltiplas formas de lazer na vida profissional, familiar e institucional, como
factor incontornável para o exercício da criatividade em liberdade e para a auto-satisfação
individual e social.
O lazer é cada vez mais percepcionado como meio de satisfazer novas necessidades da
personalidade em todos os níveis culturais, observando-se o decréscimo dos valores do
trabalho no sentido clássico e a expansão dos valores do lazer, especialmente entre a
juventude.
65
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Confirma-se, que as novas tendências do turismo revelam uma evolução comportamental do
turista que está em linha com as novas marcas sociais e culturais da civilização global:
independente, experiente, orientado para a tecnologia, exigente, activo, aberto a outras
culturas, sensível ao ambiente e à sociedade.
As novas motivações dos turistas estão especialmente ligadas à inovação, à educação, à
experiência e à autenticidade, evidenciando uma subida na pirâmide de Maslow para as
necessidades intelectuais e espirituais do Homem.
Confirma-se a educação como motivação líder do século XXI e que de mãos dadas com o
turismo, quais peregrinos e mercadores de há mil anos, irão juntos contribuir decisivamente
para o diálogo global da humanidade, se forem capazes de inovar e construir um novo
turismo: o turismo educacional, baseado na autodeterminação, no sentimento de auto
valorização, na exploração, no desafio, na aprendizagem e na descontracção …mas
sobretudo se souberem respeitar o caminho da aspiração histórica da pessoa à expressão
de si mesma, que as crianças, na sua cultura própria, reclamam simplesmente com um
…Posso ir brincar?
66
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
2.4 - As universidades: desde sempre destinos turísticos educacionais
«é indigno do homem não partir…
em busca de uma ciência a que pode aspirar»11
Seguindo o percurso da evolução do conhecimento e procurando as raízes fundacionais das
universidades, vai procurar-se a evidência destes centros de educação superior como
grandes pólos de atracção e destinos de viajantes em busca de educação e do
conhecimento.
A civilização ocidental encontra as suas fundações culturais na Grécia clássica e o
pensamento dos filósofos gregos, de Sócrates a Aristóteles, de Platão a Pitágoras, sobre o
homem, a natureza, a sociedade, o estado e a democracia ainda hoje marcam o nosso
quotidiano.
À produção intelectual, desde a Grécia clássica até ao museu de Alexandria, não é estranha
a inspiração e o legado científico e cultural produzido pelos assírios, caldeus e egípcios que,
8.000 anos A.C., souberam transmitir na forma escrita, mais tarde reinventada pelos fenícios
na forma do alfabeto fonético, a matriz da escrita grega, cirílica e romana.
A cidade estado de Atenas, já antes do séc. V A.C., estabelecia ambientes próprios,
públicos e abertos, onde a educação (paideia) das crianças até aos 14 anos era constituída
por duas partes fundamentais: física e intelectual, “gymnastiké para o corpo, mousiké para a
alma” (Platão, República, 376e, citado por Patrick Lynch, trad. 1995: 2) na base da adesão
livre e opção familiar que financiavam os seus professores.
Nos ambientes públicos, polivalentes e abertos (gymnasiuns), os adolescentes
complementavam a sua educação junto dos cidadãos, dos atletas, dos guerreiros e dos
filósofos. Enquanto sofistas, estes mestres recusavam fixar-se nas cidades e só com
Sócrates iniciaram o estabelecimento de escolas fixas e regulares, quer em locais públicos
quer em locais privados, na base da livre associação, recusando a institucionalização. O
Lyceum e a Academia eram dois dos mais importantes gymnasia atenienses.
11
Aristóteles, citado por Gambra (1968: 23).
67
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
"Regressando a Atenas, [Platão] começou a frequentar a Academia, que era um gymnasium
localizado num arvoredo fora da cidade e chamado de um certo herói Academos” (Diógenes
De Laércio III, 7, citado por Patrick Lynch, trad.1995: 28). Apesar da instituição do ensino
superior grego ser atribuída aos sofistas, só Platão evidencia a fixação e o regular
funcionamento na Academia e só Platão estabelece as condições de continuidade da sua
escola para lá da sua morte, que lhe dão a marca de instituição de ensino superior.
Para além de Atenas, outras cidades gregas como Megara com a escola de Euclides, Kos
com a escola de Hipócrates, Rodhes e Pergamo com a escola de Galeno, são referências
primordiais do ensino superior helénico (Cubberley, 1920: 31).
No Egipto, cerca de 300 A.C., Euclides instala a sua escola de geometria em Alexandria que
se torna o maior centro do conhecimento e da experimentação científica, da matemática, da
mecânica e da astronomia e de onde emergem, até aos dias de hoje, a física de Arquimedes
e a astronomia de Ptolomeu.
A biblioteca de Alexandria contava com mais de 700 000 obras do repositório da sabedoria
grega, egípcia, judaica, oriental e cristã, acumulada ao longo de séculos de civilização e o
museu de Alexandria, constituiu-se, durante séculos, não só como o maior pólo de
aprendizagem da humanidade, mas também o mais importante centro de miscigenação
civilizacional de árabes, europeus e orientais (Cubberley, 1920: 32).
Na Pérsia e no mundo islâmico estavam estabelecidas escolas superiores como a
florescente academia de Gundishapu e, no séc. II D.C., em Bihar, Nalanda funcionava como
a maior academia budista da Índia.
O império romano vai beber à cultura grega as suas maiores marcas e os jovens tribunos
romanos viajavam para a Grécia e para Alexandria para completarem a sua educação. O
Estado Romano institui em Roma a educação superior, baseada no latim e no grego, para a
aprendizagem das leis, da gramática, da retórica, da matemática, da medicina, da
astronomia e da mecânica. Aos romanos, com a unificação do Império, se deve a imposição
e o legado de um corpo cultural comum de práticas, de moeda, de leis e de língua, o que vai
facilitar a rápida expansão do cristianismo (Cubberley, 1920: 42).
Pertence no entanto a Aristóteles, mestre de Alexandre, o Grande, o legado de pensamento
intelectual helénico, fruto da idade de ouro da cultura humana. As suas obras inspiraram o
renascimento da Idade Média no séc. XII, mesmo tendo provocado grande controvérsia,
68
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
fruto, em grande medida, da acção das sucessivas gerações de copistas e tradutores do
grego para cirílico, do árabe para o hebreu e para o latim.
Quando o império romano fecha a Academia em Atenas, a Pérsia acolhe platónicos e
aristotélicos e são os árabes, como Averrois, Avicena e Batuta que, séculos mais tarde,
viajando de Constantinopla à Babilónia, da Índia ao Norte de África e da Sicília a Espanha,
vão restituir, através das escolas de tradutores espanhóis de Córdova e Toledo, o
conhecimento grego à Europa com as obras de Aristóteles, Platão, Euclides, Ptolomeu,
Arquimedes e Galeno, questionando a cultura e os modelos instituídos pelos romanos e
consolidados pelo cristianismo (Cubberley, 1920: 95-97).
Na Europa e durante a baixa Idade Média até ao séc. XII, a educação foi tutelada pela Igreja
Cristã, hermética e limitada pelos textos religiosos e pelo latim, fechada nas catedrais e nos
mosteiros e dirigida ao clero e muito limitadamente aos nobres.
O crescimento do comércio marítimo e o florescimento das cidades estado, como Veneza no
Adriático, favoreceram o aparecimento de uma poderosa e rica burguesia de mercadores,
artesãos e banqueiros, organizada em ligas e confederações, associada em guildas que se
instalaram nas cidades – burgo, estabelecendo os seus próprios regulamentos, criando os
seus sistemas de aliança e de protecção e reclamando sistemas de educação
independentes da Igreja (Cubberley, 1920: 106).
Junto de algumas catedrais medievais, como Nôtre-Dame em Paris, Canterbury e Oxford
em Inglaterra, alguns reputados clérigos e monges franciscanos, dominicanos e beneditinos,
destacavam-se pela leitura polémica dos gregos clássicos, recuperavam Aristóteles,
captando o interesse dos estudantes, oriundos de muitas nações, que viajavam através da
Europa atraídos pelos grandes centros do saber.
O conceito contemporâneo de Universidade autónoma e laica, só nasce efectivamente no
séc. XII, quando o termo universitas se começa aplicar às corporações de mestres e
estudantes em studium, o studium generale.
Em Bolonha, os mestres Irnerius e Gratian ao compilarem o Canon das leis romanas,
fundaram o maior studium de direito canónico civil da Europa. E é nesta cidade, em 1088,
que os estudantes de diferentes nacionalidades, estabelecem a primeira Universidade,
adoptando o modelo das guildas, para sua própria protecção e regulação, assegurando o
seu funcionamento, contratando os professores, exercendo um controlo constante sobre o
valor e a regularidade do seu ensino e mesmo sobre a sua vida privada (Schaff, 1882: 299 e
69
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Verger, 1973: 48, citado por Pomar, 398).
Bolonha, reconhecida como a primeira Universidade, era uma corporação de estudantes
(universitas scholarium), enquanto Oxford e Paris eram corporações de mestres (universitas
magistrorum) (Schaff, 1882: 293).
A diversidade de recrutamento das universidades medievais é acentuada pelo carácter
transitório da pertença à Universidade o que, acentuando as diferenças culturais e a
diversidade de origens geográficas, conduz à organização interna em nações (Schaff, 1882:
294; Cubberley, 1920: 114). Só o latim, como língua comum, torna possível o carácter
universalista das universidades medievais (Verger, 1973: 68, citado por Pomar, 398).
Desde o início que os estudantes e os mestres medievais foram considerados como
membros do clero e por isso gozavam dos privilégios e imunidades dessa classe. No
entanto, tornando-se tão numerosos (750.000 na Europa ocidental antes da Reforma) e
viajando para tão longe dos seus países, mais garantias de protecção foram necessárias e
estabelecidas por imperadores como Alfredo, o Grande para Oxford, Carlos Magno para
Paris, o Imperador Theodosius II para Bolonha e por cartas de reconhecimento papais
(Hannam 2003: s/p).
O Imperador Frederico Barbarossa, em 1158, emitiu uma proclamação geral de privilégios e
protecção, onde ordenava que professores e estudantes “ viajando para os seus destinos de
estudo” fossem protegidos de prisão injusta, que lhes fosse permitido circular em segurança
e que em caso de julgamento “deveriam ser presentes aos seus professores ou ao bispo da
cidade” (Cubberley, 1920: 111).
Com o fim dos impérios unificados na Europa, as nações europeias caminharam, durante
muitos séculos, para a separação cultural e para a afirmação da sua identidade própria.
Com o movimento da Reforma e a separação das Igrejas católica e luterana, no séc. XVI,
com a invenção europeia da imprensa, por Guttenberg, em 1440, e consequente expansão
da produção bibliográfica, as línguas nativas e vernáculas foram progressivamente
substituindo o latim e o grego, línguas francas nas universidades da Idade Média.
As universidades passam a aliar-se aos poderes políticos ou à Igreja e a ciência passa a
desenvolver-se à margem das universidades.
70
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Só em 1810, quando Humboldt lidera o movimento de reflexão sobre a reforma da
universidade de Berlim, é criado um novo modelo, que há-de sobreviver até século XX,
recuperando a universalidade e unidade dos saberes e dos estudos, a ligação entre a
investigação e o ensino, a associação entre professores alunos para a procura da verdade,
a independência face aos poderes políticos, económicos e religiosos, com a proclamação da
completa autonomia e independência. “Todos os assuntos devem poder ser tratados na e
pela universidade, inclusive as questões religiosas. Mas a universidade apenas está
submetida à lei da razão. Por outras palavras, na sua essencial liberdade crítica, a
universidade não aceita qualquer subordinação ou compromisso. Ela é autónoma na
escolha dos métodos e prioridades de investigação, orientada unicamente pelo respeito pela
ciência e pela procura da verdade enquanto tarefas sempre inacabadas” (Pombo, 1999: s/p)
Em 1988, novecentos anos depois da fundação da primeira Universidade, é assinada em
Bolonha, pelos reitores das universidades europeias, a Magna Carta Universitatum
reproclamando o princípio da autonomia e estabelecendo os direitos fundamentais das
universidades (MCTES, 2006).
Em Maio de 1998, na comemoração dos oitocentos anos da Universidade de Paris, na
Declaração da Sorbonne, os quatro ministros da educação da Alemanha, França, Itália e
Reino Unido sublinham o papel central das universidades no desenvolvimento da dimensão
cultural da Europa, considerando ainda que a criação de um espaço europeu de educação
superior é um factor chave para promover o desenvolvimento europeu e a mobilidade e
empregabilidade dos seus cidadãos (MCTES, 2006).
No espírito da construção da União Europeia como um espaço comum de desenvolvimento
e prosperidade, num quadro de respeito pela autonomia e pela diversidade cultural dos
povos, é assinada, em Junho de 1999, pelos ministros da educação de vinte e nove países
europeus, a Declaração de Bolonha, comprometendo-se a criar condições para o
estabelecimento até 2010, de um Espaço Europeu de Ensino Superior (MCTES, 2006).
Recuperando o espírito da sua fundação, a Declaração de Bolonha propõe às universidades
uma trajectória de internacionalização, um caminho de convergência europeia para uma
perspectiva universalista da Universidade.
No processo de Bolonha contemplam-se instrumentos de standardização e uniformização
curriculares, o estabelecimento de um sistema de créditos comparáveis, a criação de redes
71
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
de partilha e de cooperação, a implementação de sistemas comuns de medida e controlo da
qualidade e sistemas integrados de ensino e aprendizagem.
Estes esforços das universidades europeias, potenciados pelas facilidades comunicacionais
das tecnologias e pela expansão da nova língua franca que é o inglês, perspectivam a
abertura de condições para uma intensa mobilidade, não só dos estudantes, já estimulada
pelos programas europeus Erasmus, Sócrates e Leonardo da Vinci, mas também dos
professores e investigadores, numa Europa que se pretende consolidar como global e
competitiva, na era da primazia do conhecimento.
Em 1327, o noviço beneditino alemão, Adso de Melk, que viajava na Toscânia, por ócio e
por desejo de aprender, acompanhando o seu mestre franciscano inglês Guilherme de
Baskerville (discípulo, ele próprio, de Grosseteste de Oxford e de Guilherme de Occam),
ouvia dele, que “um bom cristão pode aprender às vezes até com os infiéis” e que aos
franciscanos ingleses, Roger Bacon, (1214-1294), Doutor Admirabilis, teria ensinado que “o
plano divino passaria um dia para a ciência das máquinas” e que “um dia, pela força da
natureza poder-se-ão fazer instrumentos de navegação …e haverá carros …e
pequeníssimos instrumentos que levantem pesos enormes e veículos que permitam viajar
pelo fundo do mar”(Eco, 1980: 17,19-21).
Umberto Eco, professor na Universidade de Bolonha, pensador da humanidade do nosso
tempo, põe, na voz do franciscano Guilherme, a razão final da educação e do conhecimento:
“Não era luxúria a sede de conhecimento de Roger Bacon, que queria empregar as ciências
para fazer feliz o povo de Deus e portanto não procurava o saber pelo saber” (Eco, 1980:
389).
Partindo e regressando a Bolonha, de algum modo podemos concluir que, quando a
civilização ocidental, chegada ao séc. XXI, reconhece a educação como o seu maior
desígnio, as universidades europeias fecham um ciclo da história, recuperando o seu
primordial carácter universalista e impulsionam a Europa para os caminhos da prosperidade
cultural e económica, oferecendo-se, de novo, como grandes destinos do saber, abrindo-se
à diversidade e à diferença, condição fundamental para o progresso da Humanidade.
72
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Capítulo 3: Pontes para os novos mundos da aprendizagem
73
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
74
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
3.1 – Universidade de Aveiro: “Regresso ao Futuro”12
Theoria, Poiesis, Praxis
Theoria, Poiesis, Praxis, estas insígnias foram “inscritas num livro aberto, estilizado: o livro
expressa a defesa da sabedoria, nas vertentes ensino e investigação; as palavras gregas
representam a dimensão actual da investigação teórica, tecnológica, artística e humanística;
a esfera armilar simboliza a universalidade do saber” (Estatutos da U.A., 1989 citado por
Amorim, 2001:12).
A necessidade de entendimento da Universidade de Aveiro (UA) como pólo de oferta de
actividades de educação, lazer e turismo para o público infantil, conduz-nos, numa primeira
etapa, à necessidade de caracterizar esta instituição, não só do ponto de vista formal e
material, mas também e sobretudo procurando entender a sua cultura e a sua inspiração.
Nesta perspectiva, justifica-se a observação da sua história e das suas opções de
desenvolvimento, procurando sobretudo destacar os aspectos diferenciadores desta
universidade no contexto tradicional das universidades clássicas.
As fontes desta análise foram o livro de Inês Amorim, História da Universidade de Aveiro – A
construção de memórias: 1973-2000, os resumos históricos dos serviços de documentação,
a informação publicada no site institucional da Universidade de Aveiro e ainda o documento
“Da Universidade única à multiplicidade de universidades no século XXI, disponibilizado pelo
portal nacional dos Universitários – Universia.pt: As Universidades em Portugal: história,
organização e problemas.
Tendo sido criada num contexto histórico – político particular, na véspera da maior marca da
história contemporânea de Portugal, o 25 de Abril de 1974, a Universidade de Aveiro
também faz parte da mudança desejada para o sistema universitário português, que antes
se confinava às universidades clássicas de Lisboa, Porto e Coimbra.
A primeira Universidade portuguesa, denominada Studium Generale, localizou-se
originalmente em Lisboa, sendo mais tarde transferida para Coimbra e mantendo-se ao
longo de vários séculos como a única do país. À excepção do caso incidental da
12
Pombo, O. (1999), Regresso ao Futuro, Conferência “Da ideia da Universidade à Universidade de ideias”.
75
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Universidade de Guimarães no século XVI, apenas de 1559 a 1759 se voltou a criar em
Portugal outra Universidade, a Universidade de Évora.
É então que na República, corria o ano de 1911, voltaram a surgir duas novas
Universidades em Lisboa e no Porto sendo que em 1930 nasce a Universidade Técnica de
Lisboa e somente nos anos sessenta são criadas duas Universidades no Ultramar (Luanda
e Lourenço Marques). “As Universidades criadas com a República anunciavam-se já como a
solução aos problemas da vida nacional, assumindo-se como verdadeiros centros de
investigação científica e tecnológica” (Amorim, 2001: 19).
Em 1973, na época de Marcelo Caetano, é iniciado o processo de criação das novas
universidades, impulsionado pelo então Ministro da Educação Nacional Professor Veiga
Simão, em que, apesar do cruzamento de “diversas concepções de ensino superior”
(Amorim, 2001: 19) se pretendia já, universidades com claras posturas de mudança e
estratégias de inovação. São nesta altura criadas a Universidade Nova de Lisboa, a
Universidade do Minho, a Universidade de Évora e a Universidade de Aveiro.
Criada pelo Decreto-lei n. 402/73 de 11 de Agosto e “correspondendo às expectativas
locais” (Amorim, 2001: 22), é fundada a 15 de Dezembro de 1973, a já muito desejada
Universidade de Aveiro. Este nascimento ocorreu numa “altura em que se reuniam uma
série de factores resultantes de uma consciência crescente da importância de um projecto
de alargamento do ensino universitário a algumas cidades ditas da província e da pretensão
de reunir em Aveiro, um conjunto de estabelecimentos que pugnassem por uma formação
de nível superior, ao serviço de uma vasta região” (Amorim, 2001: 22).
Como forma de responder ao compromisso assumido pelo Ministério da Educação Nacional
com os Correios e Telecomunicações de Portugal13 (C.T.T.), a Comissão Instaladora (CI) da
UA aprovou ministrar em primeiro lugar o curso de Electrónica e Telecomunicações. Assim,
o primeiro ano lectivo decorreu já em 1974/75, e contou com sete alunos a frequentarem o
curso de bacharelato em Electrónica e Telecomunicações.
A UA iniciou um claro investimento na inovação desde o instante em que começou a definir
as linhas orientadoras das áreas científicas e das metodologias de ensino que pretendia
13
O compromisso baseava-se na oferta da UA de um bacharelato em Telecomunicações em troca da cedência temporária de
edifícios dos CTT e apetrechamento dos laboratórios por parte dos CTT.
76
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
ministrar. Neste sentido, é possível perceber desde logo, a aspiração ao salto entre a visão
da ciência como mera ferramenta, à visão da ciência como uma forma integrada de estar,
trabalhar, ver e viver o mundo.
Segundo Inês Amorim (2001: 81), quando analisa a orientação para a ciência no capítulo:
Da ciência técnica à ciência cultura: cozinheiros-chefe e cientistas, a UA surge desde a sua
fundação, como defensora da ciência cultura, “Este breve percurso, (...) deverá ainda
equacionar o relacionamento surgido, com particular ênfase desde o pós-guerra, entre a
radicalização da tecnologia, o racionalismo científico e a ciência como cultura, no âmbito da
missão da Universidade. O seu difícil equilíbrio aponta já para a possibilidade de uma
Universidade que procure a recuperação da noção de cultura, transcendendo o objectivo
estritamente técnico-funcional. Tal perspectiva emerge de um belíssimo texto intitulado:
Procedimentos experimentais: sobre cozinheiros-chefe e cientistas (Sousa, 1992: 91-102)
que entre múltiplos aspectos denuncia: os jovens cientistas estão mais ensinados para
terem empregos do que para conjecturar ou questionar, (…) são empregados por indústrias
que os tratam como se fossem cozinheiros-chefe, (…) de forma a produzir pratos que
agradem os seus clientes, e que por isso serão vendidos por largas somas de dinheiro.
A questão colocada é profunda – a da necessidade de equilíbrio numa educação científica
de forma a ultrapassar a imagem frequente de um monólogo discursivo, que ignore
fenómenos e práticas socialmente correntes, em benefício de situações puras e
estereotipadas (Gago, 1992: 40). “
Esta visão sobre a ciência indicia já muito claramente uma opção pela “ciência como cultura
e não apenas como um conjunto de saberes especializados”; “o que de mais nobre a ciência
pode oferecer à cultura não é ganhar dinheiro, nem guerras, o que de mais nobre a ciência
pode oferecer não difere muito daquilo que a Filosofia e a Arte podem oferecer: o direito de
duvidar, o direito de pesquisar interiormente uma existência de novos mundos visíveis do
exterior” (Sousa, 1992: 100 citado por Amorim, 2001: 81).
A perspectiva de ciência adoptada pela Universidade de Aveiro encontra também eco na
Conferência Mundial para o século XXI, organizada pela Unesco e pelo Conselho
Internacional da Ciência (ICSU), em Julho de 1999, quando na declaração da Ciência para o
século XXI – Um novo compromisso, proclama, no seu primeiro ponto, a Ciência para o
conhecimento; conhecimento para o progresso.
77
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
“Neste texto regressa-se ao princípio de utilidade do trabalho científico, mas pressupondo-
se que este visa a salvaguarda do património comum e a salvaguarda do equilíbrio
internacional tendo em vista a paz e a cooperação. Neste campo só políticas científicas bem
gizadas teriam sucesso, em que a Universidade teria um papel fundamental ao conferir uma
educação científica com repercussões na responsabilização da utilização do conhecimento
científico, numa perspectiva da ciência na sociedade e a ciência para a sociedade” (Amorim,
2001: 81, 82).
A indicação dos caminhos adoptados pela UA, aparece claramente evidenciada na
expressão formal da sua missão inscrita nos seus estatutos:
Título I – Disposições gerais
Capítulo I – Denominação, sede, natureza jurídica e missão
(…)
Artigo 4.º – Missão
1. A Universidade é um centro de criação, transmissão e difusão de cultura, ciência e tecnologia e tem por fins:
a. A formação humana, cultural, científica e técnica;
b. A realização de investigação fundamentada e aplicada;
c. A prestação de serviços à comunidade numa perspectiva de valorização recíproca, com especial atenção
para a região em que se integra;
d. O intercâmbio cultural, científico e técnico com instituições congéneres, nacionais e estrangeiras;
e. A contribuição, no seu âmbito de actividade, para a cooperação internacional e para a aproximação entre
os povos, em especial com os países de expressão oficial portuguesa e os países europeus.
A UA evidencia o seu desenvolvimento procurando o preenchimento das necessidades do
mundo real em seu redor. “A Universidade de Aveiro definiu a sua carta de domínios de
conhecimento e de cursos a cumprir de acordo com uma argumentação que lhe era
específica: a regionalização do ensino e da investigação de forma a preencher as lacunas
do panorama do ensino universitário em Portugal” (Amorim, 2001: 91).
Assim, os parâmetros de decisão para as opções curriculares iniciais prendiam-se com “as
exigências da qualidade de vida da comunidade nos múltiplos aspectos do progresso
integral e correlativas perspectivas de emprego; o nível de procura por parte dos estudantes;
o grau de insuficiência doutras escolas em domínios idênticos ou afins; as eventuais
relações de semelhança com outros cursos; o seu grau de exequibilidade” (Amorim, 2001:
91).
Neste enquadramento conceptual e correspondendo ao compromisso entre o Ministério de
Educação Nacional e os C.T.T., o primeiro curso aprovado nesta Universidade, foi o de
Electrónica e Telecomunicações. Respondendo às necessidades de uma multiplicidade de
78
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
empresas da região que se dedicavam e ainda se dedicam a este sector industrial, o curso
de Cerâmica e Vidro é mais uma das primeiras evidências do consciente contributo da
Universidade para o desenvolvimento regional e da sua preocupação com os níveis de
empregabilidade.
A atenção à envolvente social e à região onde se insere é também evidenciada quando a
Universidade de Aveiro fundamenta as opções de lançamento de novas áreas curriculares,
auscultando a região através de aplicação de inquéritos nos distritos de Aveiro e Viseu
(Fevereiro e Março de 1974) sobre a procura social dos cursos propostos, no duplo sentido
profissional e sociológico. Um era dirigido a empresas e entidades em todos os sectores e
visava obter algumas indicações sobre a perspectiva de emprego para potenciais
diplomados. O outro, dirigido a estudantes dos últimos anos do ensino secundário,
procurava aferir das suas preferências relativamente ao ingresso em cursos superiores.
No seguimento da análise dos passos inovadores relacionados com as opções curriculares,
merece especial destaque a criação do Centro de Formação de Professores (CIFOP), cujos
horizontes de criação surgiram no ano de 1977, através da visita de dois técnicos do Banco
Mundial. Estes dois técnicos deslocaram-se até Aveiro ”com a intenção de apoiar projectos
de preparação de nível médio (pós-secundário) e de formação de professores e de
educadores de diversos graus de ensino. A UA foi vista como sendo dotada das condições
ideais para a criação de uma estrutura com aquela natureza” (Amorim, 2001: 37).
Assim, a 27 de Dezembro de 1978, é publicado o Decreto-lei n.º 432/78, que aprova a
criação do CIFOP na UA. Este centro, tal como foi previamente definido pelos responsáveis
da sua concepção, teria como principais competências o apoio a docentes e educadores, a
formação contínua de docentes em actividade e por último, as pós-graduações e o
desenvolvimento de projectos de investigação (Amorim, 2001: 95).
Analisando a evolução da infra estrutura física da UA, confirma-se que a UA começou por se
instalar provisoriamente, a partir de 15 de Dezembro de 1973, num edifício cedido pelo
Centro de Estudos e Telecomunicações (C.E.T.), entidade responsável pelos processos de
investigação no seio dos C.T.T. e cujas instalações se localizavam na rua Mário
Sacramento.
Seguiu-se um processo conturbado e com grandes indefinições, na procura de terrenos para
79
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
uma instalação definitiva. Foi neste cenário que se tornou premente a concepção de um
Plano Geral (PG) para estruturar o futuro espaço da Universidade.
. H
A
.
CIFP . .
E
C
. . T
Legenda:
A: Artes
C: Ciências
CIFP: C.I. Formação de professores
E: Economia, C. do trabalho
H: Humanidades
T: Tecnologias
Diagrama 5: Plano Geral: relações interdepartamentais, Amorim (2001: 41)
Em Março de 1975, os Serviços Técnicos da UA, lançam dois inquéritos internos sob o
mesmo título: Inquéritos para a preparação de um pré-programa das futuras instalações
desta Universidade, procurando auscultar as necessidades da docência e da investigação e
programando uma oportunidade única de ultrapassar o esquema tradicional de arquitectura
universitária.
Em 1978 é iniciada mais uma etapa diferenciadora na história desta instituição ao fazer-se
uma opção pelo formato dos Campus anglo-saxónico, formato este “que teve as suas raízes
em Oxford e Cambridge” (Amorim, 2001: 18) sendo então nele concentrados, os diferentes
departamentos, correspondendo a uma única área geográfica, com claras fronteiras da
cidade e do seu centro urbano. A mais marcante opção do PG prendeu-se com “a divisão, à
época, da estrutura orgânica da Universidade em cinco grandes áreas de estudo” (Amorim,
2001: 40).
O Plano Geral da UA foi orientado pela Universidade de Arquitectura do Porto, tendo nele
ficado determinado “nas palavras do seu coordenador, arquitecto Nuno Portas substituir a
80
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
continuidade da volumetria”;“pela continuidade dos percursos exteriores e interiores”;
“alusiva...a um sistema claustral ou de arquitectura urbana”. (Amorim, 2001: 45). Envolvidos
na concepção dos edifícios estiveram dos mais importantes arquitectos portugueses com:
Adalberto Dias, Aires Mateus, Alcino Soutinho, Emília Pedroso Lima, Gonçalo Byrne, João
Almeida, Lopo Prata, Joaquim Morais Oliveira, Matos Ferreira, Nuno Portas, Siza Vieira,
Souto Moura e Victor Carvalho.
Se a história de uma instituição pode ser lida na sua infra-estrutura física, ela é sobretudo
marcada pela infra-estrutura humana: as pessoas que a sonharam, projectaram e
construíram.
“A criação da UA contou com um grupo significativo de docentes-investigadores oriundos da
Universidade de Lourenço Marques, muito antes do processo de descolonização associado
ao 25 de Abril, que de alguma forma introduziu a mobilidade compulsiva.” (Amorim, 2001:
135). “Uma consulta aos processos individuais dos docentes, revela essa ligação e mesmo
o envolvimento do primeiro reitor da UA, Professor Victor Gil da Universidade de Coimbra,
nomeadamente por Veiga Simão, já Ministro da Educação (e antigo Professor da
Universidade de Coimbra) no recrutamento de colegas de Lourenço Marques. Este aspecto
é pelo próprio reitor repetidamente referido em várias entrevistas14 e um documento de
Dezembro de 1974 refere-se, explicitamente, a transferência da Universidade de Lourenço
Marques para a UA”.
“Neste envolvimento com a Universidade de Lourenço Marques parece residir a tendência a
vertente desenvolvida desde a criação da UA, de uma articulação básica entre Universidade
e Sociedade. Note-se que, quer a Universidade de Angola, quer a de Moçambique, estavam
bem cientes do seu papel de estreita sintonia com as necessidades locais e é bem curioso,
a nosso ver, ter-se encontrado entre os diferentes papéis avulsos do arquivo da UA, um
documento intitulado Linhas Gerais da Reforma do Ensino Superior, de Fevereiro de 1971,
brochura com a chancela de divulgação pelo Círculo Universitário de Lourenço Marques.”
(Amorim, 2001: 135)
Além dessa ligação humana e histórica à Universidade de Lourenço Marques, a
Universidade de Aveiro beneficiou da influência e abertura com outras universidades
europeias. “Com efeito, é certo que o professor Veiga Simão, tendo sido reitor na
Universidade de Lourenço Marques (1963-1970), aí estabeleceu bases sólidas e inovadoras
14
Entrevista de Victor Gil para O Litoral, Diário de Aveiro, 12.12.98
81
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
de concepção de ensino universitário e nelas inseriu o contacto com mundos científicos
extra-fronteiras, a que não foi alheia a sua formação anglo-saxónica, incentivando os alunos
e assistentes a procurarem na Inglaterra e Estados Unidos a sua formação” (Vicente, 1999:
430, citado por Amorim, 2001: 135).
“Esta ligação a uma formação em centros de estudo no estrangeiro terá forjado uma
sensibilidade relativamente às aportações de contributos de cientistas residentes no
estrangeiro e incentivado uma certa abertura para o exterior, hoje designado por
internacionalização. O encontro de Cientistas Portugueses residentes no estrangeiro em
1995, realizado em Aveiro, insere-se num ambiente global de internacionalização e
cooperação da ciência e da cultura, representa um prolongamento de uma atitude que
esteve na base da criação da UA; o debate de ideias e contributo de experiências e
projectos desenvolvidos no estrangeiro e com aplicação interna – os princípios da
mobilidade de cientistas, no sentido de poderem contribuir para essa transformação
societária, política e organizacional (Castanheira, 1996. 51)” (Amorim, 2001: 137).
Hoje, a UA é frequentada, no campus de Aveiro e no ano lectivo de 2005-2006, por cerca de
11.000 alunos de formação inicial e oferece cursos de graduação em áreas tão diversas
como as engenharias, as ciências e as tecnologias, a saúde, a economia, a gestão, a
contabilidade e o planeamento, as artes, as humanidades e a educação.
PROVEDOR UNIVERSITÁRIO
REITORA
VICE-REITORES
Gabinete do Reitor
ADMINISTRADOR
ADMINISTRADOR PARA A ACÇÃO
SOCIAL
Estudos, planeamento e
prospectivas
Assessoria jurídica
Auditoria, Qualidade e inovação
dos serviços Biblioteca, Assuntos Assuntos Infra-estruturas
documentação e académicos administrativos e físicas e
Investigação, Inovação e arquivos financeiros tecnológicas
transferência tecnológica
Imagem, comunicação e relações
interinstitucionais
Gestão documental e Área Informática e
Coordenação e formação Projecto
tratamento técnico Formação Administrativa comunicações
Internacionalização Obras, Multimédia e EaD
Apoio aos Área manutenção e
Utilizadores Mobilidade Financeira segurança
LCA
Diagrama 6: Estrutura orgânica central da UA, SR (2005)
82
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
A organização da UA é baseada numa estrutura matricial, estimulando o cruzamento das
diferentes áreas científicas e pedagógicas. Garantindo a liberdade de criação pedagógica,
científica, cultural e tecnológica, a UA procura também prosseguir uma governação de
cooperação, promovendo a qualidade e assegurando a participação de todos os corpos
académicos na vida académica.
A UA integra catorze Departamentos, três Escolas Superiores, três Secções Autónomas,
seis Institutos e além do Laboratório Central de Análises, vinte e três Centros de Estudos e
de Investigação estão enquadrados na UA (Anexo 1).
Além do ensino superior universitário, composto por 41 licenciaturas da responsabilidade
dos seus departamentos e secções autónomas, a UA ministra ainda 17 cursos do ensino
superior politécnico na Escola Superior Aveiro Norte, na Escola Superior de Saúde da
Universidade de Aveiro, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda e no
Instituto Superior de Contabilidade e Administração.
Aos alunos de formação inicial juntam-se mais 1600 que frequentam os diversos programas
de pós-graduação da UA, repartidos entre cursos de formação especializada (pós-
graduações que não conferem grau), mestrados e doutoramentos, nas mais diversas áreas
do saber.
O conjunto da formação pós-graduada oferecida pela UA é amplo e dirigido a um público
diversificado: recém-licenciados com interesse em prosseguir uma carreira científica ou
docente ou procurando uma formação mais dirigida antes de entrarem no mercado de
trabalho; quadros superiores de empresas e outras instituições que pretendiam aprofundar
ou actualizar os seus conhecimentos, através de programas de formação avançada;
investigadores interessados em desenvolver projectos especializados nas áreas científicas
desenvolvidas nas unidades de investigação da UA; docentes tendo em vista uma
especialização ou a progressão na carreira; ou pessoas simplesmente empenhadas na sua
valorização pessoal e profissional e, ao mesmo tempo, em contribuir para o avanço do
conhecimento.
O ano lectivo 2002/2003 marcou o início do Programa Aveiro-Norte, o programa de ensino e
formação tecnológica e profissional da UA, especialmente dirigido a diversos concelhos do
norte do distrito de Aveiro. Desde então, não só o Programa de Formação Pós-Secundária
da UA se estendeu a outros concelhos, como aumentou o leque de Cursos de
Especialização Tecnológica (CETs) oferecidos. Os CETs são cursos de formação pós-
83
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
secundária, não superior, que têm como objectivo promover um percurso formativo que
permita a obtenção de qualificação profissional.
À qualidade do seu ensino, a UA alia uma investigação de excelência e uma intensa
cooperação com o mundo empresarial. A UA dispõe de 18 Unidades de Investigação e
Laboratórios Associados, que usufruem dos meios laboratoriais, informáticos e bibliográficos
que permitem a criação e desenvolvimento de conhecimento científico, tecnológico e
artístico de excelência.
A cooperação e intercâmbio nacional e internacional têm sido uma aposta da UA,
concretizada através da participação nos numerosos programas de Educação, Ciência e
Tecnologia da Comissão Europeia e de outros programas e ainda através do
estabelecimento de vários acordos e protocolos.
A cooperação com a sociedade é reforçada pela intervenção da Universidade na promoção
de transferência de conhecimento, tecnologia e inovação, na dinamização de programas de
formação contínua, no incentivo à difusão cultural e artística de iniciativas de âmbito local,
regional ou nacional.
Pela sua vocação para a ligação do ensino e da investigação com o meio empresarial e com
a comunidade em geral, a UA ocupa um papel de destaque no progresso científico,
tecnológico e artístico, destacando-se na direcção destas intervenções a Fundação João
Jacinto Magalhães e a GrupUnave.
Hoje a UA é um parceiro privilegiado de muitas empresas às quais presta serviços e fornece
know-how e mão-de-obra altamente qualificada e com as quais desenvolve inúmeros
projectos de investigação e desenvolvimento de novos produtos. A excelência da
investigação é, aliás, uma marca distintiva desta casa, como atesta o facto de 70% das suas
unidades de investigação terem sido classificadas com muito bom e excelente em
avaliações externas recentes.
Não é, pois, de estranhar que a Universidade de Aveiro seja a única universidade
portuguesa a fazer parte do ECIU – European Consortium of Innovative Universities, um
consórcio que reúne algumas das mais inovadoras e empreendedoras universidades
europeias.
84
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Os exemplos do carácter inovador da UA não são de agora. Nos anos 80, investigadores da
UA desenvolveram os primeiros estudos de construção de um forno microondas para a
multinacional TEKA. Desde então a UA tem continuado a apostar em projectos de
investigação e desenvolvimento em áreas de grande impacto científico, tecnológico e
socioeconómico, como a robótica e a inteligência artificial, a telemedicina, os telemóveis de
4.ª geração, a genética, a protecção ambiental e o ordenamento do território, o
desenvolvimento de novos materiais e o ensino à distância, para referir apenas alguns
exemplos.
Com excepção da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, de algumas
residências dispersas pela cidade de Aveiro e das instalações ao serviço do Programa
Aveiro-Norte, a Universidade de Aveiro concentra-se no Campus Universitário de Santiago,
uma vasta área situada entre a zona lagunar das salinas e o movimentado centro da cidade.
O campus é uma mini-cidade, com os seus espaços naturais e os cerca de 40 edifícios que
o compõem: edifícios de ensino e de investigação, edifícios de apoio administrativo e
técnico, residências, cantinas, bares e restaurantes, pista de atletismo, pavilhão
polidesportivo, lavandarias, correios, banco, loja da Universidade, bibliotecas, livrarias,
centro de cópias, salas para espectáculos e conferências, galerias para exposições, jardim
infantil e creche. Aqui encontram-se reunidas num único espaço todas as infra-estruturas de
estudo, de investigação, de apoio, culturais, desportivas e de lazer, oferecendo condições
únicas a todos quantos fazem parte da comunidade académica.
Com edifícios projectados pelos melhores arquitectos portugueses, o Campus Universitário
de Santiago é uma sala de exposições da moderna arquitectura portuguesa, visitada, todos
os anos, por milhares de arquitectos e estudantes de arquitectura de todo o mundo.
A aquisição da antiga Fábrica de Moagens de Aveiro pela Universidade de Aveiro introduziu
a componente física que faltava: o espaço para a instalação de um Centro de Ciência Viva,
porque a sua Universidade sempre valorizou a comunicação e a divulgação, à cidade e ao
país, dos seus trabalhos de ciência e tecnologia.
A Fábrica da Ciência, aberta desde 2004, é já uma referência nacional na promoção da
ciência e divulgação da cultura científica numa perspectiva experimentalista, estimulando
nas crianças a aprendizagem activa das ciências.
85
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
A Semana de Ciência e Tecnologia, organizada anualmente em Novembro, tem
representado um ponto alto nesta prática, contribuindo para abrir as portas da Universidade
a todos aqueles que sentem vontade de saber mais e, de uma forma mais próxima, como se
faz ciência, quem são os cientistas e investigadores que dão vida aos laboratórios
espalhados por todo o campus universitário.
Ao processo de Bolonha, um dos maiores desafios postos às universidades, a Universidade
de Aveiro respondeu com a criatividade que marcou o seu desenvolvimento e encontrou
nele oportunidades para a sua evolução e competitividade europeia.
A diferenciação da Universidade de Aveiro é marcada pelo “regresso à universalidade da
cultura” fomentando o “talento integrador” (Ortega y Gasset 1982:72, citado por Pombo,
1999: s/p), pela sua ligação e abertura à sociedade, pela sua prática da “ciência na
sociedade e a ciência para a sociedade”, pela sua “criação e intervenção cultural” e pela sua
matriz humana de cooperação e inclusão universalista.
86
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
3.2 - Quando a U.A. abre as portas às crianças
Em coerência com o seu espírito de ligação à sociedade, a UA evidencia, desde há muitos
anos, práticas de oferta de actividades dirigidas às crianças. Estas iniciativas evidenciam
uma especial resposta às redes de confiança naturalmente criadas a partir de uma das
primeiras áreas fundacionais da Universidade, a formação de professores.
Aparentemente os laços criados na formação inicial de professores parecem encontrar nas
actividades ludico-pedagógicas para a infância, um modo de se renovar e reforçar,
alargando e enriquecendo a relação da comunidade educativa com a Universidade.
Estas actividades estão embebidas nas práticas das estruturas pedagógicas, científicas e de
gestão da UA, assumindo uma natureza muito diversificada, evidenciando calendários
irregulares e alguns limitados casos de programação plurianual.
Oferta de Actividades
Regular Não regular
PmatE Pratica
Pedagógica
Semana da
Ciência e Olimpíadas
Tecnologia Química
Fábrica da Biologia no
Ciência Verão
Visitas
Guiadas Geologia no
Verão
Cursix.Estga
Actividades
do DECA
Diagrama 7: Tipologia de oferta de actividades da UA
Baseado na análise
da tipologia da oferta de actividades da UA)
Conforme se evidencia no diagrama 7, a tipologia das actividades da UA é muito variada.
Foram identificadas actividades que são oferecidas de modo regular ou permanente, como o
Projecto PmatE do Departamento de Matemática, a Semana da Ciência e Tecnologia
organizado pela UA com a colaboração dos seus organismos e departamentos, que se
87
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
realiza anualmente em Novembo, a Fábrica da Ciência com uma oferta permanente ao
longo do ano e as Visitas Guiadas que são organizadas pelo Serviços de Relações
Externas.
Um vasto conjunto de actividades são organizadas com um calendário irregular como a
Prática Pedagógica organizada pelo Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa, as
Olimpíadas da Química da responsabilidade do departamento de Química, a Biologia no
Verão organizada pelo departamento de Biologia, a Geologia no Verão promovida pelo
Departamento de Geociências, o Cursix promovido pela Escola Superior de Tecnologia e
Gestão de Águeda e as actividades organizadas pelo Departamento de Comunicação e
Arte.
Considerando o levantamento das actividades oferecidas pela UA às crianças, realizado
entre Novembro de 2005 e Março de 2006, foi possível confirmar o carácter eminentemente
lúdico-pedagógico das actividades criadas pela UA para crianças, (Anexos 4, 5, 6, 8, 9).
Realçam-se alguns casos relevantes de integração de tecnologias de informação e
comunicação, reforçando e estimulando a componente de interacção, como é o caso da
iniciativa PmatE, Projecto matemática Ensino, promovido pelo Departamento de
Matemática, que já ocorre desde 1989, (Anexo 7).
A natureza das actividades oferecidas é caracterizada pela integração dos eixos
fundamentais da ludicidade e da interacção, condição fundamental para responder às
necessidades e motivações deste público-alvo, em todos os grupos etários, já identificados
entre 0 aos 18 anos.
Tipo de Actividades
Actividade Experimental
Apresentação de Projecto
Atelier/Workshop
Conversa/ Palestra
Espectáculo de Música
Espectáculo de Teatro
Exposição
Filme
Jogo
Saída de Campo
Visita Guiada
Tabela 4: Tipologia da natureza de actividades
Baseado na tipologia adoptada
pelos Serviços de Relações Externas da UA
88
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Na tabela 4 identifica-se a tipologia de actividades de educação e lazer promovidas pela UA.
Esta tipologia, adoptada pelo Serviço de Relações Externas da UA, é também inspirada na
classificação utilizada pelo Programa Ciência Viva no Pavilhão do Conhecimento em Lisboa,
para as actividades de educação e lazer para crianças, evidenciando o nível de
interactividade que proporciona.
Atendendo à limitação de recolha de dados e à grande diversidade da tipologia de
actividades, resultante natural da criatividade e liberdade das estruturas pedagógicas e
científicas que as promovem e organizam, adoptou-se uma agregação em grandes grupos,
que permitisse alguma integridade e harmonização dos dados e maior coerência na sua
análise.
Universidade de Aveiro
Participação total por Iniciativa
2001-2005
30.199
30.000
25.000
Nº de participantes
20.000
15.000
10.428
10.000 8.743
6.237 6.338
5.000
PmatE Semana Ciência e Fábrica da Ciência Visitas Guiadas Outras Actividades
Tecnologia
Gráfico 1: UA - Volume total da participação por iniciativa
Seleccionaram-se as iniciativas PmatE, da Semana da Ciência e Tecnologia, da Fábrica da
Ciência e as Visitas Guiadas para uma abordagem mais detalhada, dado o seu peso (90%)
no universo de iniciativas em observação, enquanto que as restantes e muito diversas
iniciativas serão apenas referenciadas.
Os dados recolhidos, associados à adesão das crianças às iniciativas da UA, cobrem o
período entre 2001 e 2005, embora para as Visitas Guiadas não fosse possível considerar
os anos 2002 e 2003, devido à dificuldade de levantamento dessa informação e a Fábrica só
apresente dados em 2004 e 2005, pois só iniciou actividade em Julho de 2004.
89
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Universidade de Aveiro
Evolução anual da participação total
2001-2005
21.252
20.000
18.000
17.421
16.000
14.000
Nº de participantes
12.000
9.608
10.000
8.000
7.534
6.130
6.000
4.000
2.000
2001 2002 2003 2004 2005
Gráfico 2: UA - Evolução anual da participação total
Como se evidencia nos gráficos 2 e 3, no período em análise, de 2001 a 2005, há um
crescimento permanente da adesão do público infantil às actividades oferecidas, que
motivaram, nestes cinco anos, 61.945 visitas à UA.
Os registos associados a 2002 e 2003 evidenciam a falta de dados das Visitas Guiadas e o
crescimento que se regista nos anos 2003 e 2004, pode ser explicado quer pelo crescimento
constante do PmatE e da Semana da Ciência e Tecnologia, quer pela oferta promovida pela
Fábrica da Ciência.
Universidade de Aveiro
Evolução anual da participação por iniciativa
2001-2005
21.252
22.500
20.000 17.421
Nº de participantes
17.500
15.000
12.500 9.609
10.000 7.534
6.130
7.500
5.000
2.500
0
2001 2002 2003 2004 2005
Outras Actividades 113 721 1.928 1.813 1.763
Visitas Guiadas 2.223 0 0 3.173 3.347
Fábrica da Ciência 0 0 0 653 5.584
Semana Ciência e Tecnologia 5.000 4.158 5.936 8.273 6.832
PmatE 198 1.251 1.744 3.509 3.726
Gráfico 3: UA - Evolução anual da participação por iniciativa
Procurando fazer uma análise mais fina ao universo de crianças que participa nas
90
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
actividades oferecidas pela UA, adoptou-se uma grelha de classificação baseada nos
grupos etários associados à infância, de acordo com a segmentação etária da infância
apresentada no Capítulo 1 deste trabalho. Esta segmentação etária permite estabelecer
uma correlação coerente com as idades médias associadas aos ciclos de educação: (0-4) +
(4 - 6 anos) = Pré-escolar; (7-10 anos) = 1º Ciclo; (10-14 anos) = 2º e 3º Ciclos; (15-17 anos)
= Secundário.
Na análise dos dados recolhidos, conforme Anexo 2, confirmou-se que os registos
associados ao 2º e 3º ciclo não são normalmente desagregados, tendo por isso sido
considerado um único grupo etário de classificação.
A forma como é organizada a participação nas actividades e a visita à UA, permite analisar
as condições que geram esta adesão e perceber como a escola, os professores e a família
são determinantes na iniciativa, na organização das viagens e na necessária preparação
logística.
Assim a recolha de dados, conforme Anexo 2, permitiu agregar registos de tipo escolar,
quando organizadas pelas escolas ou pelos professores e de tipo não escolar, quando
organizadas pela família ou independentes e ainda sem qualquer classificação, quando não
evidenciam a natureza da organização e iniciativa da visita.
Sintetizando, os registos de participação nas actividades oferecidas pela UA foram
classificados:
Quanto à natureza da organização da visita, em três segmentos: escolar; não
escolar; não classificado.
Quanto à idade dos participantes, em quatro grupos etários: pré-escolar; 1º ciclo; 2º
e 3º ciclos; secundário.
Participação registada por segmentos e grupos etários/ciclos (2001-2005)
Não Escolar Escolar Não
Classificado
Ano Independente Familiar Pré-escolar 1º Ciclo 2 e 3º Ciclos Secundário Totais
2001 834 11,1% 0 0,0% 105 1,4% 849 11,3% 2.274 30,2% 3.359 44,6% 113 1,5% 7.534
2002 373 6,1% 0 0,0% 63 1,0% 353 5,8% 2.416 39,4% 2.204 36,0% 721 11,8% 6.130
2003 687 7,2% 0 0,0% 524 5,5% 867 9,0% 3.056 31,8% 2.546 26,5% 1.928 20,1% 9.608
2004 2.215 12,7% 199 1,1% 865 5,0% 1.572 9,0% 6.442 37,0% 4.315 24,8% 1.813 10,4% 17.421
2005 1.831 8,6% 0 0,0% 668 3,1% 5.704 26,8% 7.298 34,3% 3.988 18,8% 1.763 8,3% 21.252
Totais 5.940 9,6% 199 0,3% 2.225 3,6% 9.345 15,1% 21.486 34,7% 16.412 26,5% 6.338 10,2% 61.945
Tabela 5: Participação total por segmento e grupo etário
Na análise dos dados recolhidos, conforme tabela 5, confirmou-se que as visitas conduzidas
91
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
pelas famílias representam apenas cerca de 0,3% e que a tipologia independente
representando 5.940 visitas levanta algumas dúvidas sobre a sua classificação e a sua
potencial e parcial associação às visitas de adultos à UA.
Universidade de Aveiro
Distribuição da participação total por segmento
2001-2005
Escolar
49.250
80%
Não classificado
6.338
10%
Não escolar
6.139
10%
Gráfico 4: UA - Distribuição da participação total por segmento
Cerca de 80% das crianças que se deslocam UA, fazem-no maioritariamente integradas nas
iniciativas promovidas pelos seus professores e pelas suas escolas, confirmando a forte
ligação à rede educativa, que a UA soube consolidar e fortificar com a oferta destas
actividades.
Como se evidencia na tabela 5 e no gráfico 4, 20% das visitas não estão associados a
qualquer idade ou ciclo de educação, estando 10% classificadas como não escolares e as
restantes 10%, num total de 6.338 visitas, não evidenciam qualquer classificação
relativamente à idade dos visitantes nem sobre a natureza da iniciativa e organização da
viagem.
O público infantil que participa nas actividades propostas pela UA distribui-se por todos os
grupos etários em análise, como se observa no gráfico 5.
De relevar a adesão das crianças do pré-primário e 1º ciclo que no seu conjunto
representam 23% do público aderente, como se confirma no gráfico 5 seguinte
92
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Universidade de Aveiro
Distribuição do segmento escolar por grupo etário/ciclo
2001-2005
1.º Ciclo
9.345
19%
2.º e 3.º Ciclos
21.486
Pré-escolar
44%
2.225
4%
Secundário
16.412
33%
Gráfico 5: UA - Distribuição do segmento escolar por grupo etário
5.000 a 12.500 participantes
1.500 a 5.000
500 a 1.500
300 a 500
200 a 300
100 a 200
Escala
1: 8.000.000 0 a 100
Mapa 1: UA - Distribuição da participação por origem (NUT III)
Nas iniciativas da UA foi possível recolher dados sobre a origem geográfica para 24.727
participantes. Associando o concelho de origem às NUT III, como se evidencia no mapa 1,
verifica-se que o maior peso de participação é originado no litoral, e com maior incidência
nas NUT III vizinhas da NUT do Baixo Vouga, onde se situa a UA.
93
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
3.2.1 Projecto PmatE
O Projecto PmatE, criado no Departamento de Matemática, com especial intenção
pedagógica para estimular o gosto pela matemática, alia as componentes de interacção,
ludicidade e estímulo, no formato de jogo e competição em rede e entre equipas que
progridem em etapas de dificuldade progressiva.
PmatE
Evolução anual da participação
2001-2005
4.000 3.726
3.509
3.500
3.000
Nº de participantes
2.500
2.000 1.744
1.500 1.251
1.000
500
198
0
2001 2002 2003 2004 2005
Gráfico 6: PmatE - Evolução anual da participação
“Este programa nasceu em 1989 como um desafio para a criação de um sistema informático de apoio à avaliação em
disciplinas do ensino superior com grande número de alunos.
A insuficiência dos meios informáticos levou, em boa hora, a uma experiência com os alunos do 7º ano da Escola Secundária
Nº1 de Aveiro seguindo a filosofia entretanto definida. Assim nasceu o que se tornou no ex-libris do Projecto – a competição
matemática EQUAmat.
Mais tarde o PmatE cresceu, expandiu-se para outros graus de ensino – do 3º ciclo (EQUAmat) ao secundário (mat12) ao 1º
ciclo (3º e 4º anos - MINImat) e finalmente ao 2º ciclo (MAISmat), este último em fase avançada de arranque”.
O Fundador do PmatE
Professor Doutor João David Vieira
O PmatE, contemplando as vertentes MINImat, MAISmat, EQUAmat e mat12, é destinada
aos vários graus de ensino, do básico ao secundário, tendo como principal objectivo, criar e
aumentar o gosto pela Matemática, ajudando a combater o insucesso na disciplina
promovendo também, o uso dos computadores e da Internet.
A etapa da competição final ocorre em clima de festa com milhares de crianças que se
deslocam à UA anualmente.
Esta iniciativa evidencia, conforme gráficos 6 e 7, uma progressiva e sempre crescente
94
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
adesão, conforme Anexo 2, sendo a vertente EQUAmat, dirigida ao 3º ciclo, aquela que,
apesar de estar em curso há mais anos, mantém um crescimento permanente e continuado.
PmatE: EQUAmat, mat12 e MINImat
Evolução de participação anual
2001-2005
3.718
4.000 3.505
3.500
3.000
Nº de participantes
2.500
1.744
2.000
1.251
1.500
1.000
198
500
0
2001 2002 2003 2004 2005
MINImat 0 0 0 298 270
mat12 0 16 194 284 520
EQUAmat 198 1.235 1.550 2.923 2.928
Gráfico 7: PmatE - Evolução anual da participação do EQUAmat, mat12 e MINImat
A vertente mat12, dirigida ao secundário, só foi lançada em 2003 e o MINImat, dirigida ao 1º
ciclo, iniciou-se em 2004. A vertente do 2º ciclo, MAISmat ocorreu pela primeira vez em
2005, mas não foi possível aceder aos dados de participação registada.
PmatE
Distribuição do segmento escolar por grupo etário/ciclo
2001-2005
1.º Ciclo 2.º e 3.º Ciclos
270 3.126
7% 80%
Secundário
520
13%
Gráfico 8: PmatE - Distribuição do segmento escolar por grupo etário
Pela sua natureza e desenvolvendo-se a partir das escolas, o PmatE obtém 100% do seu
público nas escolas e as visitas que lhe estão associadas são organizadas pelos seus
professores.
95
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
A predominância da participação dos 2º e 3º ciclos, evidenciada no gráfico 8, está
naturalmente associada ao tempo de operação da vertente EQUAmat, com alguns anos de
consolidação sobre a mat12 e a MINImat. O PmatE, apresenta ainda dados associados à
origem geográfica dos seus participantes, permitindo perceber a evolução da adesão a
estas actividades por NUT II e NUT III.
1.000 participantes
2001
2002
2003
2004
Escala
1: 8.000.000 2005
Mapa 2: PmatE - Distribuição e evolução anual da participação por origem (NUT II)
Confirma-se que a adesão ao PmatE se verifica fortemente a partir das regiões Centro e
Norte do país, que representam mais de 97% da participação, conforme Anexo 3 e o mapa 2
evidencia.
Esta predominância evidencia, como factor de adesão ao PmatE, a proximidade da escola
com a Universidade, que naturalmente reflecte a localização geográfica da rede de
confiança da UA com a comunidade educativa.
Este factor é tanto mais relevante quanto põe em causa a potencial visão de que as
tecnologias de informação e comunicação, em que se baseia a adesão ao PmatE, poderiam
induzir uma participação mais alargada e homogénea no país.
96
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
PmatE
Evolução da participação por NUT II
2001-2005
3.718
4.000
3.505
3.500
Nº de participantes
3.000
2.500
2.000 1.744
1.251
1.500
1.000
500 198
0
2001 2002 2003 2004 2005
Algarve 0 0 14 18 52
Alentejo 2 0 0 28 12
Lisboa e VT 4 0 38 110 76
Centro 132 834 980 2.003 2.008
Norte 60 417 712 1.346 1.570
Gráfico 9: PmatE - Evolução anual da participação por Nut II
2000a 3000 participantes
1000a 2000
500a 1000
Escala
1: 8.000.000 100a 500
0 a 100
Mapa 3: PmatE - Distribuição da participação por origem (NUT III)
Uma análise mais fina por NUTIII permite ainda evidenciar o efeito da proximidade
geográfica na participação das crianças no PmatE, embora se confirmem algumas NUT III
do interior da Região Centro com muito baixa participação.
97
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
3.2.2 Semana da Ciência e Tecnologia
A Semana da Ciência e Tecnologia é uma iniciativa nacional, que ocorre todos os anos, em
Novembro, envolvendo instituições científicas, universidades, escolas, associações e
museus que abrem as portas para dar a conhecer as actividades que desenvolvem, através
de um contacto directo com o público.
A Universidade de Aveiro é uma das mais dinâmicas entidades nacionais a promover a
Semana da Ciência e Tecnologia, desde o seu lançamento em 1997.
Semana da Ciência e Tecnologia
Evolução anual da participação
2001-2005
10.000
9.000 8.273
8.000
6.832
7.000
Nº de participantes
5.936
6.000
5.000
5.000
4.158
4.000
3.000
2.000
1.000
2001 2002 2003 2004 2005
Gráfico 10: Semana da Ciência e Tecnologia - Evolução anual da participação
Esta iniciativa, no período em análise, tem a responsabilidade por 30.199 visitas à UA.
Ao longo de uma semana, a Universidade promove um vasto conjunto de actividades para
divulgar e promover a cultura científica junto da população em geral e sobretudo junto da
juventude, conforme aconteceu em Novembro de 2005 e se evidencia nos Anexos 4 e 8.
Durante a Semana da Ciência e Tecnologia, as escolas mobilizam-se para visitar a UA que
concentra e apresenta projectos, experiências, ateliers, visitas a laboratórios e a colecções
científicas, originando uma das mais intensas e concentradas presenças de crianças na UA.
Os Departamentos, as Escolas Superiores, as Secções e os Centros de Investigação,
atentos às oportunidades que a Semana da Ciência e Tecnologia lhes proporciona,
evidenciam um grande dinamismo, organizando-se e envolvendo-se para evidenciar as suas
mais estimulantes actividades e trabalhos científicos.
98
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Semana da Ciência e Tecnologia
Distribuição da participação total por segmento
2001-2005
Escolar
26.200
87%
Não escolar
3.999
13%
Gráfico 11: Semana da Ciência e Tecnologia - Distribuição da participação por segmento
Conforme gráfico 11 e no quinquénio em análise, durante a Semana da Ciência e
Tecnologia, 30.199 crianças participaram nas actividades oferecidas pela UA, estando
26.200 associadas às escolas dos 1º, 2º, 3º Ciclos e Secundário.
Em relação às demais actividades, esta iniciativa apresenta a maior taxa (13%) de
participação não escolar, isto é, de crianças até aos 18 anos não integradas em viagens
e/ou visitas promovidas e organizadas pelas suas escolas, conforme gráfico 11.
Semana da Ciência e Tecnologia
Distribuição do segmento escolar por grupo etário/ciclo
2001-2005
1.º Ciclo
2.467
25%
Pré-escolar 2.º e 3.º Ciclos
747 2.768
8% 28%
Secundário
3.945
39%
Gráfico 12: Semana da Ciência e Tecnologia - Distribuição do segmento escolar por grupo etário
Das iniciativas analisadas, a Semana da Ciência e Tecnologia destaca-se pela captação
99
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
relevante de públicos infantis em todos os grupos etários, conforme se expõe no gráfico 12,
mas merece especial destaque o peso do grupo das crianças do ensino pré-escolar, que
representa 8% do seu público infantil.
1.000 a 10.000 participantes
500 a 1.000
250 a 500
100 a 250
0a 100
Escala
1: 8.000.000
Mapa 4: Semana da Ciência e Tecnologia – Distribuição da participação por origem (NUT III)
A origem geográfica das crianças que participam na Semana da Ciência e Tecnologia, como
se observa no mapa 4, apresenta os maiores pesos nas NUTIII do Norte e Centro do País.
No entanto a adesão originada nas NUT III do interior parece ser mais relevante do que se
verifica para outras iniciativas.
Potencialmente esta maior cobertura geográfica está associada à abrangência da
divulgação e promoção nacional desta iniciativa, que se realiza regularmente desde 1997.
100
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
3.2.3 Fábrica da Ciência
A Fábrica da Ciência, é um dos mais recentes investimentos da Universidade de Aveiro
para criar e oferecer actividades de experimentação e contacto com a ciência, de natureza
ludico-pedagógicas, concebidas, com uma especial atenção, para o público infantil,
conforme as iniciativas oferecidas em 2004 e 2005 evidenciadas no Anexo 5.
Fábrica da Ciência
Evolução anual da participação
2001, 2002 e 2003: Não Aplicável (NA)
5584
5.000
4.500
4.000
3.500
Nº de participantes
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000 653
500
NA NA NA
0
2001 2002 2003 2004 2005
Gráfico 13: Fábrica da Ciência - Evolução anual da participação
A Fábrica, aberta desde 1 de Julho de 2004, oferece iniciativas especialmente atractivas
pela sua natureza interactiva, pelas oportunidades de exploração experimental e pela
integração de tecnologias, daí a evidência da elevada participação
A Fábrica promove o envolvimento dos professores nas suas actividades, propondo-lhes a
utilização criativa dos seus meios e equipamentos, numa perspectiva experimental da
aprendizagem.
A Fábrica representa já hoje uma das referências na oferta de uma intensa e estimulante
programação de actividades para as crianças e para as suas famílias e é responsável por
6.237 crianças visitantes.
101
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Fábrica da Ciência
Distribuição da participação total por segmento
2004 -2005
Escolar
5.806
93%
Não escolar
431
7%
Gráfico 14: Fábrica da Ciência - Distribuição da participação por segmento
No entanto, confirma-se através do gráfico 14, que a participação das crianças nas
iniciativas da Fábrica da Ciência é maioritariamente do segmento escolar, deixando evidente
a influência das escolas e dos professores na organização das visitas.
O público não escolar representa 7% da participação, mas o segmento familiar é apenas
3%, o que evidencia que as actividades para a infância promovidas pela Fábrica da Ciência,
apesar do seu impacto socio-cultural, ainda estão longe de sensibilizar as famílias.
Fábrica da Ciência
Distribuição do segmento escolar por grupo etário/ciclo
2004-2005
2.º e 3.º Ciclos
2.000
37%
1.º Ciclo
3.352
63%
Gráfico 15: Fábrica da Ciência - Distribuição do segmento escolar por grupo etário
O gráfico 15 mostra a distribuição das crianças que participaram em actividades oferecidas
pela Fábrica da Ciência, pelos diferentes grupos etários da infância.
102
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Apenas são relevantes dois grupos etários: o 1º ciclo, com o maior peso (63%), seguido dos
2º e 3º ciclos, com 37%. Não é expressiva a adesão das crianças do pré-escolar nem do
secundário.
A Fábrica da Ciência destaca-se, no universo das actividades oferecidas pela UA, pela
capacidade de atrair as crianças do 1º ciclo.
103
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
3.2.4 Visitas Guiadas e Outras Actividades
A prática das Visitas Guiadas à UA faz parte do percurso pedagógico de muitas escolas e
professores, atingindo nos anos 2001, 2004 e 2005 um total de 8.743 visitas registadas.
A abordagem que se faz está limitada pela impossibilidade de aceder aos registos
associados aos anos 2002 e 2003.
Visitas Guiadas
Evolução anual da participação em 2001-2004-2005
2002 e 2003: Não Disponível (ND)
4.000
3.500
3.347
3.173
3.000
Nº de participantes
2.500 2.223
2.000
1.500
1.000
500
ND ND
0
2001 2002 2003 2004 2005
Gráfico 16: Visitas Guiadas - Evolução anual da participação
Constata-se, mais uma vez e como nas restantes actividades, a influência das escolas e dos
professores na promoção das Visitas Guiadas à UA, representando cerca de 80% do total
destas visitas, conforme se verifica no gráfico 18.
Visitas Guiadas
Distribuição da participação total por segmento
2001-2005
Escolar
7.044
81%
Não escolar
1.699
19%
Gráfico 17: Visitas Guiadas - Distribuição da participação por segmento
104
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
As visitas não escolares, são do tipo independente, sendo inexistentes as visitas por
iniciativa das famílias, o que é justificável se considerarmos a natureza das actividades
associadas às Visitas Guiadas naturalmente organizadas por grupo e com objectivos
pedagógicos normalmente negociados entre a escola e a Universidade através dos seus
departamentos, institutos ou centros de investigação.
A distribuição por grupos etários, conforme gráfico 18, evidencia as particularidades destas
Visitas Guiadas. Assim o grupo etário com maior peso (57%) é o secundário e a totalidade
do pré-escolar e 1º ciclo representam apenas 10%.
Visitas Guiadas
Distribuição do segmento escolar por grupo etário/ciclo
2001-2005
2.º e 3.º Ciclos
1.678
33%
Secundário
2.882
57%
1.º Ciclo
464
9%
Pré-escolar
26
1%
Gráfico 18: Visitas Guiadas - Distribuição do segmento escolar por grupo etário
Acrescendo a estes grandes grupos de actividades, a Universidade oferece um grande
número de iniciativas que estimulam a adesão continuada das crianças e das suas escolas,
dessas destacam-se pela sua atractividade para o público infantil: a Semana da Prática
Pedagógica, as Olimpíadas da Química, a Biologia no Verão, a Geologia no Verão e o
Cursix.
105
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Outras Actividades
Evolução anual da participação
2001-2005
1.928
2.000 1.813
1.763
1.750
1.500
Nº de participantes
1.250
1.000
721
750
500
250 113
2001 2002 2003 2004 2005
Gráfico 19: Outras Actividades - Evolução anual da participação
Apesar de representarem 10% das participações totais, os registos associados a estas
iniciativas não sinalizam a sua classificação por grupo etário ou por natureza da organização
das visitas, por isso a sua análise mais detalhada fica limitada.
No entanto algumas destas iniciativas ocorrem há muitos anos por iniciativa directa das
estruturas pedagógicas e científicas da UA, tendo ganho a adesão continuada das escolas,
listando-se algumas das suas actividades no Anexo 6.
106
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Conclusões
"" Ó
Ó ssttôôrraa,, ppooddeem
mooss vvoollttaarr aa bbrriinnccaarr nnaa U
UAA??""
107
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
108
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Percebida a complexidade das diferentes abordagens, quando se procura caracterizar a
infância, parece adequado adoptar a perspectiva sociológica, que vê a criança como um
actor social próprio e com uma cultura específica, diferente da dos adultos. Considera-se na
mesma linha conceptual, que a infância é uma categoria social geracional, marcada ao
longo da história e pela geografia, pelos diferentes contextos sociais, políticos e
económicos.
Apesar da Convenção dos Direitos da Criança ter sido promulgada há dezassete anos pela
ONU, as práticas dos governos e da sociedade estão longe de respeitar os direitos, formal e
universalmente, reconhecidos às crianças.
Os papéis que as crianças têm desempenhado na sociedade têm sido limitados pelo poder
dos adultos e das instituições que estes criaram para as controlar e continuará a sê-lo
enquanto estes não considerarem as crianças, como agentes sociais com direitos próprios,
nomeadamente o direito a serem ouvidas, participando nas decisões que as afectam. Esta
realidade é ainda mais notória nas sociedades desenvolvidas e globalizadas onde as
práticas de controlo estão mais institucionalizadas.
Quanto às necessidades, apetências e motivações das crianças do mundo contemporâneo
e ocidental, podemos identificar dois eixos culturais estruturantes, a ludicidade e a
interactividade, presentes em todos os segmentos etários da infância. Muito embora
assumindo diferentes formas e pesos, estes eixos marcam a cultura das crianças dos zero
aos dezoito anos, e marcam também as suas necessidades, apetências e motivações.
As crianças são estimuladas pelo novo e pelo diferente, daí a sua grande apetência para a
experimentação e para a inovação, e as brincadeiras são fundamentais para o seu
desenvolvimento cognitivo, social e emocional. As crianças que brincam com os seus pares
evidenciam maiores competências sociais e as que jogam e vivem desafios tornam-se mais
auto-confiantes.
Confirmou-se a complementaridade entre educação e entretenimento e foi possível perceber
uma muito forte sinergia entre eles, dando um carácter único à experiência da aprendizagem
através do divertimento.
Subscrevendo a urgência da agenda proposta pela Unesco (1996), ao eleger a educação
como a prioridade do século XXI, também se reconhece que no actual contexto social,
económico, cultural e tecnológico globalizante da sociedade ocidental, os modos tradicionais
de educação estão em crise e exigem novas formas e agentes. Perspectiva-se uma visão
109
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
humanista da educação, a necessidade de centrar a atenção no desenvolvimento humano,
respeitando a individualidade, diversificando os percursos de aprendizagem, estimulando a
criatividade, a auto-estima e o afecto.
Parece haver na civilização ocidental uma trajectória sócio-cultural que reforça a ideia do
lazer numa perspectiva holística, considerando-o como elemento central da vida quotidiana
e a integração de múltiplas formas de lazer na vida profissional, familiar e institucional, como
factor incontornável para o exercício da criatividade em liberdade e para a auto-satisfação
individual e social.
A tecnologia e também a economia, o sistema de valores, os limites dos recursos naturais e
energéticos são factores da actual mudança social que associados ao envelhecimento da
população, à reformulação das famílias, à autonomia feminina e à desregulação do trabalho,
num contexto de crescentes custos de vida, de maior valorização e consenso social sobre a
legitimidade e importância do lazer para a auto-satisfação e desenvolvimento pessoal, irão
dar novas formas e estilos ao lazer e requerer novos tipos de oferta.
Apesar de alguma influência da educação nos conteúdos do lazer, é certo que um dos
fundamentos da crise escolar está directamente relacionado com o controlo institucional da
escola, que tem afastado das suas práticas pedagógicas os valores do lazer, bloqueando o
desenvolvimento livre dos indivíduos que se recusam ao trabalho escolar.
Os processos educativos terão que passar para lá da escola, fazer parte de um
compromisso permanente da sociedade. As novas formas de educação terão que respeitar
a especificidade das crianças na sua expressão e acção próprias e responder às suas
motivações e necessidades, tendo em conta os eixos estruturantes fundamentais da sua
cultura: a interactividade e a ludicidade.
As tendências de evolução do turismo, revelam que a natureza do novo turista, estando em
linha com as novas marcas sociais e culturais, anuncia também novas motivações
especialmente ligadas à inovação, à educação, à experiência e à autenticidade,
evidenciando uma subida na pirâmide de Maslow para as necessidades intelectuais e
espirituais do Homem e um regresso às primeiras e mais fortes motivações, que
ancestralmente levavam o Homem a viajar.
Os caminhos percorridos em busca dos conceitos e das perspectivas de evolução da
educação, do lazer e do turismo conduzem-nos à evidência da convergência procurada.
110
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Confirmam-se dinâmicas para uma cultura de educação ao longo da vida, como chave que
dará acesso ao século XXI, adoptando os quatro grandes pilares: aprender a saber,
aprender a fazer, aprender a viver em conjunto e aprender a ser (Unesco, 1996).
Confirma-se a educação como motivação líder do século XXI e que de mãos dadas com o
turismo, quais peregrinos e mercadores de há mil anos, irão juntos contribuir decisivamente
para o diálogo global da humanidade, se forem capazes de inovar e construir um novo
turismo: o turismo educacional, baseado na autodeterminação, no sentimento de auto
valorização, na exploração, no desafio, na aprendizagem e na descontracção…mas,
sobretudo, se souberem respeitar o caminho da aspiração histórica da pessoa à expressão
de si mesma, que as crianças, na sua cultura própria, reclamam simplesmente com um
…Posso ir brincar?
Partindo e regressando a Bolonha, as universidades europeias fecham um ciclo da história,
recuperando o seu primordial carácter universalista e oferecem-se, de novo, como grandes
destinos do saber, abrindo-se à diversidade e à diferença, condição fundamental para o
progresso da Humanidade.
A Universidade de Aveiro, pela sua ligação e abertura à sociedade, pela sua prática da
“ciência na sociedade e a ciência para a sociedade”, pela sua “criação e intervenção
cultural” e pela sua matriz humana de cooperação e inclusão universalista tem aberto alguns
caminhos nos novos modos da educação das crianças.
Pela dimensão, abrangência e diversidade das actividades de educação e lazer, a UA
assume, já hoje, o papel que a nova educação espera da sociedade toda.
Tendo inciado este Projecto com uma abordagem lata relativamente à tipologia da procura
das actividades educativas e de lazer da UA, conclui-se, no entanto, que o segmento
escolar tem um peso absolutamente dominante sobre os segmentos familiar e
independente.
Há, por isso, espaço para maior captação de público infantil para lá das escolas e da rede
institucional da educação formal. A UA pode aspirar a uma maior intervenção educacional
junto das famílias e das crianças em geral, directamente ou em associação com outros
agentes sociais.
As iniciativas da UA funcionam como libertação da institucionalização do espaço escola e do
tempo formal das aulas e respondem à aspiração das crianças pela liberdade da descoberta
e da exploração. As viagens envolvidas e necessárias à participação nas iniciativas da UA
111
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
são oportunidades de aprendizagem, de socialização e de brincadeira que marcam a vida e
a memória das crianças. A UA representa já hoje o “lá fora…” de muitas crianças.
Há evidência de que a UA tem condições para atingir uma muito maior cobertura geográfica
através das suas actividades para as crianças, oferecendo novas experiências de
aprendizagem para lá da rede formal de educação.
Como meio de planeamento, intervenção e avaliação, a UA poderá reforçar a visibilidade da
sua contabilidade infantil, recorrendo a classificações normalizadas e procedendo a registos
formais e regulares, da oferta e procura, das suas iniciativas para crianças.
Confirma-se que a natureza lúdica e interactiva das actividades criadas e promovidas pela
UA vai de encontro aos pilares fundamentais da cultura infantil: a ludicidade e
interactividade.
Compreendendo o carácter marcadamente educativo destas actividades, a UA pode ainda
reforçar o seu impacte nas crianças se reforçar as iniciativas abertas e espaços de liberdade
e criatividade.
Mas, pela sua matriz humana de cooperação e inclusão universalista, a UA tem condições
para ir mais longe e considerar as crianças, como agentes sociais com direitos próprios,
nomeadamente o direito a serem ouvidas, participando nas decisões que as afectam. A UA
pode abrir às crianças a oportunidade para falarem sobre as actividades que organiza e
promover a sua contribuição para o planeamento das iniciativas para a infância.
A perspectiva holística de lazer e a confirmação da educação como motivação líder do
século XXI, permite perceber a UA como um pólo de atracção, regional e mesmo nacional,
para o turismo educacional, onde se exercita a transição da educação formal e institucional
para a educação baseada na criatividade e na descoberta, respeitando a cultura própria das
crianças.
A fidelização deste público apresenta sinais de impacte na procura de formação superior,
inscrevendo a UA na memória das crianças como estimulante referência de qualidade e
prazer na aprendizagem.
As iniciativas de educação e lazer para a infância promovidas UA assumem já um evidente
papel na vida de milhares de universitários de palmo e meio e as marcantes experiências
que usufruem nas visitas à Universidade, organizadas pelas suas escolas e professores,
justificam bem o título destas conclusões:
112
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
"" Ó mooss vvoollttaarr aa bbrriinnccaarr nnaa U
Ó ssttôôrraa,, ppooddeem UAA??""
Considerando os elementos diferenciadores da Universidade de Aveiro, de ligação e
abertura à sociedade, e as suas práticas de cooperação e inclusão universalista, é
naturalmente expectável que este segmento infantil adopte, em breve, mais uma nova fala:
"" Ó mooss vvoollttaarr aa bbrriinnccaarr nnaa U
Ó aavvóó,, ppooddeem UAA??""
Neste Projecto Final de Curso reconhecem-se amplas áreas de estudo que ficaram por
explorar e caminhos de investigação que só o calendário e o tempo formal impediu de
percorrer.
A abordagem ao turismo educacional poderia ainda abrir áreas de estudo associadas à
educação formal, à classificação mais detalhada das condições físicas e logísticas que exige
e à tipologia de tempos e espaços próprios.
Ficam também por identificar e caracterizar as iniciativas educacionais e de lazer oferecidas
pelas restantes universidades portuguesas e europeias, o que poderia permitir, conhecer
outras práticas e elaborar uma análise comparativa com o caso estudo seleccionado.
Considera-se, no entanto, que o trabalho desenvolvido, tendo sido um desafio pela abertura
de novas áreas de conhecimento, foi também uma grande oportunidade de aprendizagem e
de conjugação das técnicas e competências adquiridas ao longo da licenciatura em Gestão
e Planeamento em Turismo.
113
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
114
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Anexos
115
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
116
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Lista de Anexos
Anexo 1: Departamentos e Organismos da Universidade de Aveiro ................................................................... 119
Anexo 2: Participação registada nas actividades da UA (2001 – 2005)............................................................... 121
Anexo 3: Origem geográfica da participação nas actividades da UA................................................................... 123
Anexo 4: Lista e descrição de actividades da UA, Semana da Ciência e Tecnologia.......................................... 131
Anexo 5: Lista e descrição de actividades da UA, Fábrica da Ciência ................................................................ 143
Anexo 6: Lista e descrição de actividades da UA, Outras actividades................................................................. 147
Anexo 7: Resumo histórico da iniciativa PmatE................................................................................................... 151
Anexo 8: DVD – V Semana Aberta da Ciência e Tecnologia, reportagem 3810 UA............................................ 152
Anexo 9: DVD – Compilação das reportagens 3810 UA: “Os universitários de palmo e meio” ........................... 154
117
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
118
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Anexo 1: Departamentos e Organismos da Universidade de Aveiro
1 Departamento de Ambiente e Ordenamento
2 Departamento de Biologia
3 Departamento de Ciências da Educação
4 Departamento de Comunicação e Arte
5 Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa
6 Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial
7 Departamento de Electrónica e Telecomunicações
8 Departamento de Engenharia Cerâmica e do Vidro
9 Departamento de Engenharia Mecânica
10 Departamento de Física
11 Departamento de Geociências
12 Departamento de Línguas e Culturas
13 Departamento de Matemática
14 Departamento de Química
15 Secção Autónoma de Ciências da Saúde
16 Secção Autónoma de Ciências Sociais, Jurídicas e Políticas
17 Secção Autónoma de Engenharia Civil
18 Instituto de Engenharia Electrónica e Telemática de Aveiro - IEETA
19 Instituto de Formação Inicial Universitária
20 Instituto de Formação Pós-Graduada
21 Instituto de Investigação
22 Instituto de Telecomunicações - IT
24 Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro
25 Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologias da Produção Aveiro Norte
26 Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro
27 Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda
28 Laboratório Central de Análises
29 Centro de Biologia Celular - CBC
30 Centro de Estudos de Competividade Empresarial - CECE
31 Centro de Estudos do Ambiente e do Mar - CESAM
32 Centro de Estudos do Ambiente e do Mar - CESAM
33 Centro de Estudos em Governança e Políticas Públicas - CEGOPP
34 Centro de Estudos em Optimização e Controlo - CEOC
35 Centro de Informática e Comunicações da Universidade de Aveiro (CICUA)
36 Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores - CDTFF
37 Centro de Investigação em Materiais Cerâmicos e Compósitos - CICECO
38 Centro de Investigação em Materiais Cerâmicos e Compósitos - CICECO
39 Centro de Línguas e Culturas - CLC
40 Centro de Tecnologia Mecânica e Automação - TEMA
41 Centro Integrado de Formação de Professores (CIFOP)
42 Centro Multimédia e de Ensino a Distância (CEMED)
43 Evolução Litosférica e Meio Ambiental de Superfície - ELMAS
44 Construção do Conhecimento Pedagógico nos Sistemas de Formação - CCPSF
45 Física de Semicondutores em Camadas, Optoelectrónica e Sistemas Desordenados - FSCOSD
46 Matemática e Aplicações - MA
119
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
47 Minerais Industriais e Argilas - MIA
48 Química Orgânica de Produtos Naturais e Agroalimentares - QOPNA
49 Unidade de Investigação em Comunicação e Arte - UNICA
50 Biblioteca
51 Complexo Pedagógico
52 Associação para a Formação Profissional e Investigação da Universidade de Aveiro (UNAVE)
53 Fundacão João Jacinto de Magalhães
54 Reitoria - Sala de Actos
55 Fábrica de Ciência Viva
120
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Anexo 2: Participação registada nas actividades da UA (2001 – 2005)
Participação Registada em 2001
Não
Não Escolar Escolar
Classificado
Pré- 1.º 2 e 3.º
Actividades Independente Familiar Secundário
escolar Ciclo Ciclos
PmatE 0 0 0 0 198 0
S Ciência Tecnologia 834 0 105 583 1274 2204 0
Fábrica da Ciência NA NA NA NA NA NA NA
Visitas Guiadas 0 0 0 266 802 1155 0
Outras Actividades 0 0 0 0 0 0 113
Totais 834 0 105 849 2274 3359 113
Participação Registada em 2002
Não
Não Escolar Escolar
Classificado
Pré- 1.º 2 e 3.º
Actividades Independente Familiar Secundário
escolar Ciclo Ciclos
PmatE 0 1235 16 0
S Ciência Tecnologia 373 63 353 1181 2188 0
Fábrica da Ciência NA NA NA NA NA NA NA
Visitas Guiadas ND ND ND ND ND ND ND
Outras Actividades 0 0 0 0 0 0 721
Totais 373 0 63 353 2416 2204 721
Participação Registada em 2003
Não
Não Escolar Escolar
Classificado
Pré- 1.º 2 e 3.º
Actividades Independente Familiar Secundário
escolar Ciclo Ciclos
PmatE 1550 194 0
S Ciência Tecnologia 687 524 867 1506 2352 0
Fábrica da Ciência NA NA NA NA NA NA NA
Visitas Guiadas ND ND ND ND ND ND ND
Outras Actividades 0 0 0 0 0 0 1928
Totais 687 0 524 867 3056 2546 1928
NA: Não aplicável
ND: Não disponível
121
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Anexo 2: Participação registada nas actividades da UA (2001 – 2005)
Participação Registada em 2004
Não
Não Escolar Escolar
Classificado
Pré- 1.º 2.º e 3.º
Actividades Independente Familiar Secundário
escolar Ciclo Ciclos
PmatE 2 0 0 298 2925 284 0
S Ciência Tecnologia 1034 0 865 1002 2379 2993 0
Fábrica da Ciência 0 199 0 0 454 0 0
Visitas Guiadas 1179 0 0 272 684 1038 0
Outras Actividades 0 0 0 0 0 0 1813
Totais 2215 199 865 1572 6442 4315 1813
Participação Registada em 2005
Não
Não Escolar Escolar
Classificado
Pré- 1.º 2.º e 3.º
Actividades Independente Familiar Secundário
escolar Ciclo Ciclos
PmatE 8 0 0 270 2928 520 0
S Ciência Tecnologia 1071 0 642 1884 1494 1741 0
Fábrica da Ciência 232 0 0 3352 2000 0 0
Visitas Guiadas 520 0 26 198 876 1727 0
Outras Actividades 0 0 0 0 0 0 1763
Totais 1831 0 668 5704 7298 3988 1763
Total da Participação Registada ( 2001- 2005)
Não
Não Escolar Escolar
Classificado
Pré- 1.º 2.º e 3.º
Actividades Independente Familiar Secundário
escolar Ciclo Ciclos
PmatE 10 0 0 568 8836 1014 0
S Ciência Tecnologia 3999 0 2199 4689 7834 11478 0
Fábrica da Ciência 232 199 0 3352 2454 0 0
Visitas Guiadas 1699 0 26 736 2362 3920 0
Outras Actividades 0 0 0 0 0 0 6338
Totais 5940 199 2225 9345 21486 16412 6338
122
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Anexo 3: Origem geográfica da participação nas actividades da UA
NUT II NUT III Concelho Ano Actividades Número
Norte Alto Trás-os-Montes Boticas 2004 PmatE 30
Norte Alto Trás-os-Montes Braga 2004 Visitas Guiadas 17
Norte Alto Trás-os-Montes Valpaços 2004 PmatE 6
Norte Alto Trás-os-Montes Alfândega da Fé 2005 PmatE 4
Norte Alto Trás-os-Montes Chaves 2005 PmatE 8
Norte Alto Trás-os-Montes Valpaços 2005 PmatE 22
Norte Ave Santo Tirso 2001 Semana Ciência Tecnologia 30
Norte Ave Guimarães 2004 PmatE 30
Norte Ave Santo Tirso 2004 PmatE 56
Norte Ave Trofa 2004 PmatE 28
Norte Ave Vila Nova de Famalicão 2004 PmatE 52
Norte Ave Guimarães 2005 PmatE 44
Norte Ave Santo Tirso 2005 PmatE 54
Norte Ave Trofa 2005 PmatE 24
Norte Ave Vila Nova de Famalicão 2005 PmatE 12
Norte Cávado Barcelos 2004 Visitas Guiadas 60
Norte Cávado Barcelos 2005 PmatE 30
Norte Cávado Braga 2004 PmatE 62
Norte Cávado Braga 2004 PmatE 28
Norte Cávado Bragança 2004 PmatE 8
Norte Cávado Esposende 2004 PmatE 12
Norte Cávado Terras de Bouro 2004 PmatE 22
Norte Cávado Braga 2005 PmatE 10
Norte Cávado Bragança 2005 PmatE 58
Norte Cávado Esposende 2005 PmatE 12
Norte Cávado Terras de Bouro 2005 PmatE 30
Norte Cávado Vila Verde 2005 PmatE 16
Norte Cávado Vila Verde 2005 PmatE 18
Norte Douro Peso da Régua 2003 Semana Ciência Tecnologia 200
Norte Douro Lamego 2004 PmatE 14
Norte Douro Sernancelhe 2004 PmatE 30
Norte Douro Torres de Moncorvo 2005 PmatE 30
Norte Enter Douro e Vouga Arouca 2001 Semana Ciência Tecnologia 24
Norte Entre Douro e Vouga Oliveira de Azeméis 2001 Semana Ciência Tecnologia 44
Norte Entre Douro e Vouga São João da Madeira 2001 Semana Ciência Tecnologia 174
Norte Entre Douro e Vouga Vale de Cambra 2001 Semana Ciência Tecnologia 104
Norte Enter Douro e Vouga Arouca 2002 Semana Ciência Tecnologia 72
Norte Enter Douro e Vouga Oliveira de Azeméis 2002 Semana Ciência Tecnologia 75
Norte Entre Douro e Vouga São João da Madeira 2002 Semana Ciência Tecnologia 46
Norte Enter Douro e Vouga Oliveira de Azeméis 2003 Semana Ciência Tecnologia 102
Norte Entre Douro e Vouga Santa Maria da Feira 2003 Semana Ciência Tecnologia 29
Norte Entre Douro e Vouga São João da Madeira 2003 Semana Ciência Tecnologia 77
Norte Entre Douro e Vouga Arouca 2004 PmatE 30
Norte Entre Douro e Vouga Oliveira de Azemeis 2004 Visitas Guiadas 85
Norte Entre Douro e Vouga Oliveira de Azeméis 2004 PmatE 80
Norte Entre Douro e Vouga Oliveira de Azeméis 2004 PmatE 6
Norte Entre Douro e Vouga Santa Maria da Feira 2004 Visitas Guiadas 18
123
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Anexo 3: Origem geográfica da participação nas actividades da UA
NUT II NUT III Concelho Ano Actividades Número
Norte Entre Douro e Vouga São João da Madeira 2004 Visitas Guiadas 15
Norte Entre Douro e Vouga São João da Madeira 2004 PmatE 58
Norte Entre Douro e Vouga São João da Madeira 2004 PmatE 8
Norte Entre Douro e Vouga Vale de Cambra 2004 PmatE 32
Norte Entre Douro e Vouga Arouca 2005 PmatE 26
Norte Entre Douro e Vouga Oliveira de Azeméis 2005 PmatE 64
Norte Entre Douro e Vouga Oliveira de Azeméis 2005 PmatE 16
Norte Entre Douro e Vouga Oliveira de Azeméis 2005 PmatE 120
Norte Entre Douro e Vouga São João da Madeira 2005 PmatE 60
Norte Entre Douro e Vouga São João da Madeira 2005 PmatE 28
Norte Entre Douro e Vouga Vale de Cambra 2005 PmatE 42
Norte Grande Porto Espinho 2001 Semana Ciência Tecnologia 19
Norte Grande Porto Porto 2001 Semana Ciência Tecnologia 53
Norte Grande Porto Póvoa de Varzim 2001 Semana Ciência Tecnologia 24
Norte Grande Porto Vila do Conde 2001 Semana Ciência Tecnologia 42
Norte Grande Porto Maia 2002 Semana Ciência Tecnologia 65
Norte Grande Porto Porto 2002 Semana Ciência Tecnologia 53
Norte Grande Porto Vila Nova de Gaia 2002 Semana Ciência Tecnologia 121
Norte Grande Porto Maia 2003 Semana Ciência Tecnologia 159
Norte Grande Porto Porto 2003 Semana Ciência Tecnologia 65
Norte Grande Porto Vila Nova de Gaia 2003 Semana Ciência Tecnologia 177
Norte Grande Porto Espinho 2004 Visitas Guiadas 36
Norte Grande Porto Espinho 2004 PmatE 30
Norte Grande Porto Espinho 2004 PmatE 8
Norte Grande Porto Gondomar 2004 Visitas Guiadas 55
Norte Grande Porto Gondomar 2004 PmatE 54
Norte Grande Porto Maia 2004 PmatE 30
Norte Grande Porto Matosinhos 2004 Visitas Guiadas 76
Norte Grande Porto Matosinhos 2004 PmatE 60
Norte Grande Porto Matosinhos 2004 PmatE 10
Norte Grande Porto Porto 2004 PmatE 144
Norte Grande Porto Porto 2004 PmatE 18
Norte Grande Porto Porto 2004 Visitas Guiadas 114
Norte Grande Porto Valongo 2004 PmatE 6
Norte Grande Porto Vila do Conde 2004 PmatE 26
Norte Grande Porto Vila do Conde 2004 PmatE 16
Norte Grande Porto Vila Nova de Gaia 2004 Visitas Guiadas 242
Norte Grande Porto Espinho 2005 PmatE 20
Norte Grande Porto Espinho 2005 PmatE 12
Norte Grande Porto Gondomar 2005 PmatE 86
Norte Grande Porto Gondomar 2005 PmatE 12
Norte Grande Porto Maia 2005 PmatE 2
Norte Grande Porto Matosinhos 2005 PmatE 62
Norte Grande Porto Matosinhos 2005 PmatE 26
Norte Grande Porto Porto 2005 PmatE 156
Norte Grande Porto Porto 2005 PmatE 20
Norte Grande Porto Valongo 2005 PmatE 8
124
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Anexo 3: Origem geográfica da participação nas actividades da UA
NUT II NUT III Concelho Ano Actividades Número
Norte Grande Porto Valongo 2005 PmatE 4
Norte Grande Porto Vila do Conde 2005 PmatE 38
Norte Grande Porto Vila do Conde 2005 PmatE 10
Norte Minho Lima Caminha 2002 Semana Ciência Tecnologia 140
Norte Minho-Lima Ponte da Barca 2003 Semana Ciência Tecnologia 19
Norte Minho-Lima Monção 2004 PmatE 30
Norte Minho-Lima Monção 2005 PmatE 30
Norte Minho-Lima Paredes de Coura 2005 PmatE 14
Norte Tâmega Castelo de Paiva 2001 Semana Ciência Tecnologia 108
Norte Tâmega Marco de Canaveses 2001 Semana Ciência Tecnologia 87
Norte Tâmega Paredes 2001 Semana Ciência Tecnologia 37
Norte Tâmega Penafiel 2001 Semana Ciência Tecnologia 104
Norte Tâmega Lousada 2002 Semana Ciência Tecnologia 27
Norte Tâmega Castelo de Paiva 2003 Semana Ciência Tecnologia 50
Norte Tâmega Amarante 2004 PmatE 14
Norte Tâmega Amarante 2004 PmatE 12
Norte Tâmega Felgueiras 2004 PmatE 20
Norte Tâmega Felgueiras 2004 PmatE 4
Norte Tâmega Lousada 2004 PmatE 30
Norte Tâmega Marco de Canaveses 2004 Visitas Guiadas 60
Norte Tâmega Paços de Ferreira 2004 Visitas Guiadas 20
Norte Tâmega Paços de Ferreira 2004 PmatE 60
Norte Tâmega Paredes 2004 Visitas Guiadas 28
Norte Tâmega Paredes 2004 PmatE 62
Norte Tâmega Penafiel 2004 Visitas Guiadas 25
Norte Tâmega Penafiel 2004 PmatE 120
Norte Tâmega Amarante 2005 PmatE 4
Norte Tâmega Amarante 2005 PmatE 12
Norte Tâmega Castelo de Paiva 2005 PmatE 16
Norte Tâmega Felgueiras 2005 PmatE 20
Norte Tâmega Paços de Ferreira 2005 PmatE 60
Norte Tâmega Paços de Ferreira 2005 PmatE 6
Norte Tâmega Paredes 2005 PmatE 74
Norte Tâmega Penafiel 2005 PmatE 150
Centro Baixo Mondego Batalha 2002 Semana Ciência Tecnologia 46
Centro Baixo Mondego Cantanhede 2002 Semana Ciência Tecnologia 67
Centro Baixo Mondego Figueira da Foz 2002 Semana Ciência Tecnologia 18
Centro Baixo Mondego Batalha 2003 Semana Ciência Tecnologia 120
Centro Baixo Mondego Cantanhede 2003 Semana Ciência Tecnologia 150
Centro Baixo Mondego Coimbra 2003 Semana Ciência Tecnologia 187
Centro Baixo Mondego Cantanhede 2004 PmatE 18
Centro Baixo Mondego Coimbra 2004 Visitas Guiadas 36
Centro Baixo Mondego Coimbra 2004 PmatE 156
Centro Baixo Mondego Figueira da Foz 2004 PmatE 72
Centro Baixo Mondego Leiria 2004 Visitas Guiadas 48
Centro Baixo Mondego Mira 2004 PmatE 20
Centro Baixo Mondego Montemor-o-Velho 2004 PmatE 26
125
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Anexo 3: Origem geográfica da participação nas actividades da UA
NUT II NUT III Concelho Ano Actividades Número
Centro Baixo Mondego Soure 2004 PmatE 34
Centro Baixo Mondego Soure 2004 PmatE 12
Centro Baixo Mondego Cantanhede 2005 PmatE 14
Centro Baixo Mondego Coimbra 2005 PmatE 148
Centro Baixo Mondego Figueira da Foz 2005 PmatE 48
Centro Baixo Mondego Mira 2005 PmatE 26
Centro Baixo Mondego Montemor-o-Velho 2005 PmatE 30
Centro Baixo Mondego Soure 2005 PmatE 46
Centro Baixo Mondego Soure 2005 PmatE 28
Centro Baixo Vouga Águeda 2001 Semana Ciência Tecnologia 127
Centro Baixo Vouga Albergaria-a-Velha 2001 Semana Ciência Tecnologia 484
Centro Baixo Vouga Anadia 2001 Semana Ciência Tecnologia 214
Centro Baixo Vouga Aveiro 2001 Semana Ciência Tecnologia 1524
Centro Baixo Vouga Estarreja 2001 Semana Ciência Tecnologia 459
Centro Baixo Vouga Ílhavo 2001 Semana Ciência Tecnologia 221
Centro Baixo Vouga Mealhada 2001 Semana Ciência Tecnologia 35
Centro Baixo Vouga Murtosa 2001 Semana Ciência Tecnologia 42
Centro Baixo Vouga Oliveira do Bairro 2001 Semana Ciência Tecnologia 57
Centro Baixo Vouga Ovar 2001 Semana Ciência Tecnologia 107
Centro Baixo Vouga Sever do Vouga 2001 Semana Ciência Tecnologia 123
Centro Baixo Vouga Vagos 2001 Semana Ciência Tecnologia 111
Centro Baixo Vouga Águeda 2002 Semana Ciência Tecnologia 113
Centro Baixo Vouga Albergaria-a-Velha 2002 Semana Ciência Tecnologia 314
Centro Baixo Vouga Anadia 2002 Semana Ciência Tecnologia 103
Centro Baixo Vouga Aveiro 2002 Semana Ciência Tecnologia 1400
Centro Baixo Vouga Ílhavo 2002 Semana Ciência Tecnologia 402
Centro Baixo Vouga Oliveira do Bairro 2002 Semana Ciência Tecnologia 117
Centro Baixo Vouga Ovar 2002 Semana Ciência Tecnologia 42
Centro Baixo Vouga Sever do Vouga 2002 Semana Ciência Tecnologia 75
Centro Baixo Vouga Vagos 2002 Semana Ciência Tecnologia 221
Centro Baixo Vouga Águeda 2003 Semana Ciência Tecnologia 61
Centro Baixo Vouga Albergaria-a-Velha 2003 Semana Ciência Tecnologia 161
Centro Baixo Vouga Aveiro 2003 Semana Ciência Tecnologia 1764
Centro Baixo Vouga Estarreja 2003 Semana Ciência Tecnologia 405
Centro Baixo Vouga Ílhavo 2003 Semana Ciência Tecnologia 413
Centro Baixo Vouga Mealhada 2003 Semana Ciência Tecnologia 63
Centro Baixo Vouga Oliveira do Bairro 2003 Semana Ciência Tecnologia 242
Centro Baixo Vouga Ovar 2003 Semana Ciência Tecnologia 71
Centro Baixo Vouga Sever do Vouga 2003 Semana Ciência Tecnologia 263
Centro Baixo Vouga Vagos 2003 Semana Ciência Tecnologia 40
Centro Baixo Vouga Águeda 2004 Visitas Guiadas 221
Centro Baixo Vouga Águeda 2004 PmatE 84
Centro Baixo Vouga Águeda 2004 PmatE 18
Centro Baixo Vouga Albergaria 2004 Visitas Guiadas 29
Centro Baixo Vouga Albergaria-a-Velha 2004 PmatE 40
Centro Baixo Vouga Albergaria-a-Velha 2004 PmatE 2
Centro Baixo Vouga Anadia 2004 PmatE 42
126
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Anexo 3: Origem geográfica da participação nas actividades da UA
NUT II NUT III Concelho Ano Actividades Número
Centro Baixo Vouga Anadia 2004 PmatE 10
Centro Baixo Vouga Aveiro 2004 Visitas Guiadas 264
Centro Baixo Vouga Aveiro 2004 PmatE 198
Centro Baixo Vouga Aveiro 2004 PmatE 78
Centro Baixo Vouga Aveiro 2004 PmatE 92
Centro Baixo Vouga Estarreja 2004 PmatE 12
Centro Baixo Vouga Estarreja 2004 PmatE 8
Centro Baixo Vouga Ílhavo 2004 Visitas Guiadas 33
Centro Baixo Vouga Ílhavo 2004 PmatE 72
Centro Baixo Vouga Ílhavo 2004 PmatE 16
Centro Baixo Vouga Ílhavo 2004 PmatE 22
Centro Baixo Vouga Ílhavo 2004 PmatE 20
Centro Baixo Vouga Mealhada 2004 PmatE 30
Centro Baixo Vouga Mealhada 2004 PmatE 4
Centro Baixo Vouga Murtosa 2004 PmatE 14
Centro Baixo Vouga Murtosa 2004 PmatE 18
Centro Baixo Vouga Murtosa 2004 PmatE 30
Centro Baixo Vouga Oliveira do Bairro 2004 Visitas Guiadas 25
Centro Baixo Vouga Oliveira do Bairro 2004 PmatE 30
Centro Baixo Vouga Ovar 2004 PmatE 130
Centro Baixo Vouga Ovar 2004 PmatE 2
Centro Baixo Vouga Vagos 2004 Visitas Guiadas 74
Centro Baixo Vouga Vagos 2004 PmatE 32
Centro Baixo Vouga Águeda 2005 PmatE 100
Centro Baixo Vouga Águeda 2005 PmatE 16
Centro Baixo Vouga Anadia 2005 PmatE 52
Centro Baixo Vouga Anadia 2005 PmatE 24
Centro Baixo Vouga Aveiro 2005 PmatE 194
Centro Baixo Vouga Aveiro 2005 PmatE 16
Centro Baixo Vouga Aveiro 2005 PmatE 72
Centro Baixo Vouga Estarreja 2005 PmatE 28
Centro Baixo Vouga Estarreja 2005 PmatE 4
Centro Baixo Vouga Ílhavo 2005 PmatE 110
Centro Baixo Vouga Ílhavo 2005 PmatE 30
Centro Baixo Vouga Ílhavo 2005 PmatE 24
Centro Baixo Vouga Mealhada 2005 PmatE 30
Centro Baixo Vouga Murtosa 2005 PmatE 18
Centro Baixo Vouga Murtosa 2005 PmatE 24
Centro Baixo Vouga Oliveira do Bairro 2005 PmatE 42
Centro Baixo Vouga Ovar 2005 PmatE 98
Centro Baixo Vouga Ovar 2005 PmatE 4
Centro Baixo Vouga Sever do Vouga 2005 PmatE 30
Centro Baixo Vouga Vagos 2005 PmatE 24
Centro Beira Interior Norte Celorico da Beira 2002 Semana Ciência Tecnologia 78
Centro Beira Interior Norte Guarda 2004 PmatE 6
Centro Beira Interior Norte Trancoso 2004 PmatE 24
Centro Beira Interior Norte Figueira de Castelo Rodrigo 2005 PmatE 14
127
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Anexo 3: Origem geográfica da participação nas actividades da UA
NUT II NUT III Concelho Ano Actividades Número
Centro Beira Interior Norte Figueira de Castelo Rodrigo 2005 PmatE 12
Centro Beira Interior Norte Guarda 2005 PmatE 28
Centro Beira Interior Norte Trancoso 2005 PmatE 22
Centro Beira Interior Sul Castelo Branco 2004 PmatE 62
Centro Beira Interior Sul Castelo Branco 2005 PmatE 30
Centro Cova da Beira Belmonte 2002 Semana Ciência Tecnologia 100
Centro Cova da Beira Covilhã 2004 PmatE 14
Centro Cova da Beira Covilhã 2005 PmatE 30
Centro Dão-Lafões Mangualde 2001 Semana Ciência Tecnologia 70
Centro Dão-Lafões Santa Comba Dão 2001 Semana Ciência Tecnologia 54
Centro Dão-Lafões Viseu 2001 Semana Ciência Tecnologia 73
Centro Dão-Lafões Santa Comba Dão 2002 Semana Ciência Tecnologia 50
Centro Dão-Lafões Viseu 2002 Semana Ciência Tecnologia 56
Centro Dão-Lafões Alcains 2003 Semana Ciência Tecnologia 45
Centro Dão-Lafões Oliveira de Frades 2003 Semana Ciência Tecnologia 80
Centro Dão-Lafões Tondela 2003 Semana Ciência Tecnologia 100
Centro Dão-Lafões Vila Nova de Paiva 2003 Semana Ciência Tecnologia 64
Centro Dão-Lafões Carregal do Sal 2004 Visitas Guiadas 34
Centro Dão-Lafões Mangualde 2004 PmatE 10
Centro Dão-Lafões Mortágua 2004 PmatE 5
Centro Dão-Lafões Nelas 2004 Visitas Guiadas 47
Centro Dão-Lafões Oliveira de Frades 2004 PmatE 24
Centro Dão-Lafões São Pedro do Sul 2004 Visitas Guiadas 45
Centro Dão-Lafões São Pedro do Sul 2004 PmatE 30
Centro Dão-Lafões Sátão 2004 Visitas Guiadas 56
Centro Dão-Lafões Viseu 2004 Visitas Guiadas 49
Centro Dão-Lafões Viseu 2004 PmatE 16
Centro Dão-Lafões Vouzela 2004 PmatE 60
Centro Dão-Lafões Vouzela 2004 PmatE 24
Centro Dão-Lafões Vouzela 2004 PmatE 14
Centro Dão-Lafões Carregal do Sal 2005 PmatE 14
Centro Dão-Lafões Mangualde 2005 PmatE 20
Centro Dão-Lafões Oliveira de Frades 2005 PmatE 16
Centro Dão-Lafões São Pedro do Sul 2005 PmatE 30
Centro Dão-Lafões Viseu 2005 PmatE 8
Centro Dão-Lafões Vouzela 2005 PmatE 58
Centro Dão-Lafões Vouzela 2005 PmatE 26
Centro Dão-Lafões Vouzela 2005 PmatE 24
Centro Médio Tejo Abrantes 2002 Semana Ciência Tecnologia 14
Centro Médio Tejo Tomar 2002 Semana CiênciaTecnologia 46
Centro Médio Tejo Abrantes 2003 Semana Ciência Tecnologia 15
Centro Médio Tejo Fátima 2003 Semana Ciência Tecnologia 60
Centro Médio Tejo Ourém 2004 Visitas Guiadas 100
Centro Médio Tejo Santarém 2004 Visitas Guiadas 93
Centro Médio Tejo Tomar 2004 Visitas Guiadas 50
Centro Médio Tejo Torres Vedras 2004 PmatE 28
Centro Médio Tejo Ourém 2005 PmatE 10
128
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Anexo 3: Origem geográfica da participação nas actividades da UA
NUT II NUT III Concelho Ano Actividades Número
Centro Médio Tejo Tomar 2005 PmatE 8
Centro Médio Tejo Torres Vedras 2005 PmatE 30
Centro Médio Tejo Torres Vedras 2005 PmatE 24
Centro Oeste Bombarral 2004 PmatE 18
Centro Oeste Cadaval 2004 PmatE 30
Centro Oeste Caldas da Rainha 2004 PmatE 24
Centro Oeste Lourinhã 2004 PmatE 22
Centro Oeste Cadaval 2005 PmatE 30
Centro Oeste Lourinhã 2005 PmatE 28
Centro Oeste Peniche 2005 PmatE 56
Centro Pinhal Interior Norte Penela 2001 Semana Ciência Tecnologia 44
Centro Pinhal Interior Norte Arganil 2002 Semana Ciência Tecnologia 65
Centro Pinhal Interior Norte Oliveira do Hospital 2002 Semana Ciência Tecnologia 50
Centro Pinhal Interior Norte Oliveira do Hospital 2003 Semana Ciência Tecnologia 13
Centro Pinhal Interior Norte Tábua 2003 Semana Ciência Tecnologia 40
Centro Pinhal Interior Norte Ansião 2004 PmatE 30
Centro Pinhal Interior Norte Oliveira do Hospital 2004 Visitas Guiadas 171
Centro Pinhal Interior Norte Pedrógão Grande 2004 PmatE 28
Centro Pinhal Interior Norte Pedrógão Grande 2004 PmatE 6
Centro Pinhal Interior Norte Peniche 2004 PmatE 30
Centro Pinhal Interior Norte Ansião 2005 PmatE 30
Centro Pinhal Interior Norte Arganil 2005 PmatE 2
Centro Pinhal Interior Norte Oliveira do Hospital 2005 PmatE 16
Centro Pinhal Interior Norte Pedrógão Grande 2005 PmatE 8
Centro Pinhal Interior Sul Sertã 2001 Semana Ciência Tecnologia 33
Centro Pinhal Interior Sul Mação 2004 PmatE 16
Centro Pinhal Interior Sul Sertã 2005 PmatE 38
Centro Pinhal Interior Sul Sertã 2005 PmatE 14
Centro Pinhal Litoral Leiria 2001 Semana Ciência Tecnologia 55
Centro Pinhal Litoral Marinha Grande 2001 Semana Ciência Tecnologia 10
Centro Pinhal Litoral Pombal 2001 Semana Ciência Tecnologia 46
Centro Pinhal Litoral Leiria 2002 Semana Ciência Tecnologia 44
Centro Pinhal Litoral Porto de Mós 2002 Semana Ciência Tecnologia 92
Centro Pinhal Litoral Leiria 2004 PmatE 52
Centro Pinhal Litoral Pombal 2004 PmatE 46
Centro Pinhal Litoral Pombal 2004 PmatE 12
Centro Pinhal Litoral Porto de Mós 2004 Visitas Guiadas 10
Centro Pinhal Litoral Porto de Mós 2004 PmatE 12
Centro Pinhal Litoral Leiria 2005 PmatE 24
Centro Pinhal Litoral Leiria 2005 PmatE 6
Centro Pinhal Litoral Pombal 2005 PmatE 42
Centro Pinhal Litoral Porto de Mós 2005 PmatE 8
Centro Serra da Estrela Gouveia 2001 Semana Ciência Tecnologia 71
Centro Serra da Estrela Seia 2003 Semana Ciência Tecnologia 21
Centro Serra da Estrela Gouveia 2004 PmatE 18
Centro Serra da Estrela Seia 2005 PmatE 22
Lisboa VTejo Grande Lisboa Lisboa 2001 Semana Ciência Tecnologia 10
129
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Anexo 3: Origem geográfica da participação nas actividades da UA
NUT II NUT III Concelho Ano Actividades Número
Lisboa VTejo Grande Lisboa Lisboa 2002 Semana Ciência Tecnologia 40
Lisboa VTejo Grande Lisboa Lisboa 2004 Visitas Guiadas 161
Lisboa VTejo Grande Lisboa Oeiras 2004 PmatE 30
Lisboa VTejo Grande Lisboa Sintra 2004 PmatE 10
Lisboa VTejo Grande Lisboa Vila Franca de Xira 2004 PmatE 30
Lisboa VTejo Grande Lisboa Amadora 2005 PmatE 6
Lisboa VTejo Grande Lisboa Vila Franca de Xira 2005 PmatE 30
Lisboa VTejo Médio Tejo Abrantes 2001 Semana Ciência Tecnologia 63
Lisboa VTejo Península de Setúbal Almada 2004 PmatE 30
Lisboa VTejo Península de Setúbal Almada 2004 PmatE 10
Lisboa VTejo Península de Setúbal Seixal 2004 Visitas Guiadas 52
Lisboa VTejo Península de Setúbal Setúbal 2004 Visitas Guiadas 65
Lisboa VTejo Península de Setúbal Almada 2005 PmatE 30
Lisboa VTejo Península de Setúbal Almada 2005 PmatE 10
Alentejo Alentejo Litoral Sines 2005 PmatE 2
Alentejo Alto Alentejo Alter do Chão 2003 Semana Ciência Tecnologia 38
Alentejo Alto Alentejo Alter do Chão 2004 PmatE 4
Alentejo Alto Alentejo Alter do Chão 2004 PmatE 8
Alentejo Alto Alentejo Marvão 2004 PmatE 6
Alentejo Baixo Alentejo Serpa 2004 PmatE 6
Alentejo Lezíria do Tejo Santarém 2004 PmatE 2
Alentejo Lezíria do Tejo Santarém 2004 PmatE 2
Alentejo Lezíria do Tejo Coruche 2005 PmatE 10
Algarve Algarve Loulé 2004 Visitas Guiadas 43
Algarve Algarve Tavira 2004 PmatE 18
Algarve Algarve Tavira 2005 PmatE 22
Algarve Algarve Vila Real de Santo António 2005 PmatE 30
Madeira Madeira Funchal 2001 PmatE 2
Estrangeiro Estrangeiro Alemanhã 2004 Visitas Guiadas 60
Estrangeiro Estrangeiro Áustria 2004 Visitas Guiadas 18
Estrangeiro Estrangeiro Brasil 2004 Visitas Guiadas 1
Estrangeiro Estrangeiro Dinamarca 2004 Visitas Guiadas 61
Estrangeiro Estrangeiro Espanha 2004 Visitas Guiadas 245
Estrangeiro Estrangeiro EUA 2004 Visitas Guiadas 28
Estrangeiro Estrangeiro Finlândia 2004 Visitas Guiadas 40
Estrangeiro Estrangeiro Holanda 2004 Visitas Guiadas 33
Estrangeiro Estrangeiro Itália 2004 Visitas Guiadas 50
Estrangeiro Estrangeiro México 2004 Visitas Guiadas 3
Estrangeiro Estrangeiro República da Coreia 2004 Visitas Guiadas 21
Estrangeiro Estrangeiro Rússia 2004 Visitas Guiadas 17
Estrangeiro Estrangeiro Suiça 2004 Visitas Guiadas 39
130
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Anexo 4: Lista e descrição de actividades da UA
Semana da Ciência e Tecnologia, 2004 e 2005 Data
DVD – V Semana Aberta da Ciência e Tecnologia, reportagem 3810 UA - Anexo 8 2004
Efeito de estufa e alterações climáticas – uma história em BD 21 a 27-11-05
Trata-se de uma exposição de carácter permanente constituída por seis posters, onde se pretende abordar o
problema do efeito de estufa e as consequentes alterações climáticas, recorrendo para tal, à banda
desenhada, e mais propriamente à personagem já famosa do Calvin, criada por Bill Watterson. Os posters
compreendem uma história, que começa pelo interesse do Calvin, juntamente com o seu companheiro
Hobbes, em estudar “O que é clima?”, e em não resistir em perguntar ao pai “O que é o efeito de estufa?” e
“De onde vêem os GEE?”. Com estes assuntos já melhor entendidos, eles vão tentar perceber então “Quais
são as alterações no clima?” e “Quais são os efeitos dessas alterações?”. A história em BD termina com o
Calvin feliz e contente por saber responder à difícil pergunta do teste da escola “Que podemos nós fazer?”
para resolver ou minorar este problema... Os posters compreendem uma história, que começa pelo interesse
do Calvin, juntamente com o seu companheiro Hobbes, em estudar “O que é clima?”, e em não resistir em
perguntar ao pai “O que é o efeito de estufa?” e “De onde vêem os GEE?”. Com estes assuntos já melhor
entendidos, eles vão tentar perceber então “Quais são as alterações no clima?” e “Quais são os efeitos dessas
alterações?”. A história em BD termina com o Calvin feliz e contente por saber responder à difícil pergunta do
teste da escola “Que podemos nós fazer?” para resolver ou minorar este problema...
A Matemática do Outro Lado do Espelho 21 a 27-11-05
Esta exposição - pensada para crianças - sugere uma viagem ao país de Alice, do outro lado do espelho,
deixando-se surpreender por aspectos inesperados das transformações geométricas e até admirar a
sensibilidade estética e sentido criador da Matemática. O Desafio - para crianças e jovens visitantes - é
explorar a riqueza simétrica contida em registos visuais, ilustrações recriadas para as aventuras de Alice, e
fazer as suas descobertas em situação de experiência. Uma maneira diferente de praticar a compreensão
visual e a sua fantasia...
Mecânica “On-line” – Portas Abertas 21 a 27-11-05
Visita aos Laboratórios do Departamento de Engenharia Mecânica.
Mercado do Livro Técnico-Científico 21 a 27-11-05
Feira do Livro Técnico-Científico na qual os estudantes poderão poderão adquirir livros a preço de saldo ou
com grandes promoções. Esta iniciativa de carácter mais abrangente proporcionará ao público uma visita aos
vários laboratórios do Departamento. Os seus responsáveis apresentarão de uma forma sucinta algumas das
actividades desenvolvidas nos respectivos laboratórios.
Exposição: Folhas, flores e frutos 21 a 27-11-05
Exposição resultante de um trabalho realizado no Parque de Serralves, durante cerca de 2 anos, que envolveu
os modernos sistemas de informação geográfica (SIG)- UNAVE e a identificação botânica – HERBÁRIO UA.
Integradas no levantamento do património arbóreo e arbustivo do Parque de Serralves, efectuado em parceria
com o Herbário do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro e a Unave, foram realizadas um
conjunto de imagens de folhas, flores e frutos dos cerca de 4000 exemplares identificados e que se
distribuíram por aproximadamente 200 taxa (espécies, sub-espécies, variedades, etc.). Esta exposição,
encerra imagens de grande qualidade que ampliam a beleza de estruturas presentes nas paisagens urbanas,
que muitas vezes não temos tempo de contemplar.
Flora de Portugal - Exposição fotográfica 21 a 27-11-05
Conhecer e reconhecer através da fotografia muitas das plantas que constituem a Flora de Portugal. O que
representam os carvalhos na flora portuguesa? Em Portugal existem plantas carnívoras? E orquídeas
selvagens? Porque é que o azevinho é uma espécie ameaçada? O que é uma bolota? E um bugalho?
Respostas a estas e outras perguntas podem ser encontradas nesta exposição fotográfica. As fotos de grande
qualidade são da autoria da bióloga Lísia Lopes.
Um mundo de pequenos mundos... organismos aquáticos da Ria de Aveiro 21 a 27-11-05
Exposição sobre os habitats aquáticos da Ria de Aveiro e alguns dos seus organismos mais representativos.
Um dos objectivos da exposição “Um mundo de pequenos mundos” é divulgar junto do grande público a
riqueza da biodiversidade dos principais habitats aquáticos da Ria de Aveiro, explorando os modos de vida de
alguns dos seus animais e plantas mais emblemáticos. Pretende-se mostrar que a Ria de Aveiro é um
importante núcleo de biodiversidade animal e vegetal e assim sensibilizar a população, sobretudo aquela que
mantém um contacto mais directo com a ria, para a necessidade de protecção e conservação dos vários
ecossistemas que a ria alberga. Serão apresentadas treze fotografias de espécies de animais e plantas
aquáticos da Ria, acompanhadas de um pequeno texto sobre os seus modos de vida e a sua importância para
o ecossistema.
Funcionamento básico da Internet e os seus problemas de segurança 21 a 27-11-05
O funcionamento básico da Internet e os seus principais aspectos de segurança.
131
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Anexo 4: Lista e descrição de actividades da UA
Semana da Ciência e Tecnologia, 2004 e 2005 Data
Os minerais do nosso quotidiano 21 a 27-11-05
Exposição permanente de amostras de minerais, acompanhada por descrições simples que explicam a sua
constituição.
A importância de um Herbário 21 a 27-11-05
Um herbário é formado basicamente por amostras de plantas devidamente conservadas e organizadas para
estudos científicos. Um herbário pode albergar colecções dos vários grupos vegetais, preparados e
preservados de acordo com as características de cada um. Muitas das espécies preservadas num herbário
são provenientes de locais onde a vegetação foi perturbada ou mesmo totalmente devastada, tornando os
dados das etiquetas que acompanham esses exemplares ainda mais importantes. Esta visita permitirá ao
visitante ficar com uma noção da importância de um Herbário e conhecer todas as etapas pelas quais passa o
material vegetal até ser inserido na colecção. Desde a colheita, passando pela secagem, etiquetagem,
desinfecção, montagem, todos estes passos serão explicados. Serão abordados temas como o estudo da
flora, vamos falar da flora espontânea em Portugal e da flora introduzida. O que são plantas infestantes e
quais os prejuízos causados por essas plantas. O que são os Estudos de Impacte Ambiental e qual a sua
relação com o Herbário. Os visitantes farão uma consulta ao Herbário, para perceberem a disposição do
material vegetal. A visita terminará na sala de exposições, onde estará patente uma exposição fotográfica
sobre Flora de Portugal, que suscitará muitas perguntas que não vão ficar sem resposta.
A Terra sob os nossos pés 21 a 27-11-05
A Terra esconde segredos nem sempre fáceis de desvendar. Existem métodos capazes de aumentar o
conhecimento daquilo que pisamos. Nesta actividade, serão abordadas algumas das aplicações práticas dos
métodos geofísicos de prospecção no estudo do subsolo.
Controlo do Stress e Ansiedade no Ensino Superior 21 a 27-11-05
Preparar e treinar os participantes na aprendizagem e gestão do controlo de stress e ansiedade em contexto
universitário.
Bibliotecas Digitais 21 a 27-11-05
O que é um Biblioteca Digital? Quais as suas funções, os seus prós e contras? Estas são algumas das
questões que serão abordadas nesta actividade que tem como principal objectivo criar uma discussão
saudável em torno deste tema actual. Numa era em que estão disponíveis uma série de conteúdos livres na
Internet: músicas, livros, revistas, etc., que desafios surgem para que o acesso a esses mesmos conteúdos
seja feito de uma forma coordenada evitando um caos de informação. Esta discussão será acompanhada com
a demonstração de alguns projectos desenvolvidos pela Universidade de Aveiro relacionados com a temática
das Bibliotecas Digitais, nomeadamente os Diários da Assembleia da República Electrónicos e o projecto
SInBAD, a Biblioteca e Arquivo Digital da Universidade de Aveiro. Está a sociedade preparada para receber as
Bibliotecas Digitais? A tua opinião também conta. Participa neste debate.
Bioinformática 21 a 27-11-05
A Informática no apoio à genómica e à medicina A bioinformática dedica-se ao desenvolvimento e utilização
de novas ferramentas de software e metodologias matemáticas capazes de analisar sistemas altamente
complexos e grandes volumes de informação como é o genoma humano, aglomerando em apenas uma
disciplina, a biologia, a informática e a matemática.
Gestão? O que é a Gestão? 21 a 27-11-05
A gestão nos nossos dias Sessão interactiva em que os participantes discutirão temas actuais da gestão, a
Licenciatura em Gestão da Universidade de Aveiro e as expectativas em termos de mercado de trabalho nesta
área.
À procura da luz… 21 a 27-11-05
Desenvolvimento de actividades experimentais de iniciação aos temas de electricidade, magnetismo e óptica
para crianças de Jardim de Infância e do 1º Ciclo do Ensino Básico. A sessão consistirá num conjunto de
actividades experimentais onde as crianças poderão: montar circuitos eléctricos, verificar, entre diversos
materiais, os bons e os maus condutores eléctricos; distinguir materiais magnéticos de não magnéticos,
distinguir as características de imagens de objectos em diferentes tipos de espelhos, verificar quantas imagens
se podem obter com dois espelhos planos, perceber o funcionamento de um caleidoscópio e de um periscópio
e outras. Cada grupo de 5/6 crianças realizará, de forma rotativa, um módulo de actividades (conjunto de 3
actividades).
Geodetective 21 a 27-11-05
Com base em pistas (propriedades), os participantes deverão identificar diferentes minerais. Como se podem
distinguir os minerais? Como os podemos identificar? Que nome lhes podemos dar? É proposto ao
participante um conjunto de actividades práticas (determinação e observação de algumas propriedades dos
minerais) que permitirão responder a estas e outras questões.
132
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Anexo 4: Lista e descrição de actividades da UA
Semana da Ciência e Tecnologia, 2004 e 2005 Data
Mostra de trabalhos da Lic. NTC 21 a 27-11-05
Dá-se a conhecer a licenciatura em Novas Tecnologias da Comunicação ao longo de uma viagem traçada
pelos melhores trabalhos realizados por alunos e professores. A busca de novas soluções de comunicação e
de propostas artísticas mediadas tecnologicamente. O visitante poderá assistir a pequenos filmes, interagir
com conteúdos interactivos on-line e off-line e participar em instalações artísticas interactivas. A duração
prevista é aproximadamente 1 hora.
Contaminação das águas naturais com metais pesados - o exemplo da contaminação por mercúrio 21 a 27-11-05
A investigação desenvolvida na área dos metais cresceu de uma forma que pode ser considerada
exponencial, principalmente após a catástrofe relacionada com o mercúrio ocorrida em Minamata, no Japão.
Durante as duas últimas décadas, o mercúrio tem sido motivo de interesse científico, devido às alterações que
a sua presença provoca nos ecossistemas: este elemento é tóxico para todos os organismos vivos, é
persistente e bioacumulável, ou seja, uma vez disperso nas águas, o elemento e os seus compostos não se
transformam em substâncias inofensivas, ao serem reciclados por processos físicos, químicos ou biológicos;
além disso, o mercúrio acumula-se nos organismos vivos em quantidades superiores às presentes nas águas
em que estes vivem, pelo facto de os processos de absorção do elemento serem muito mais rápidos que os
processos de eliminação. Nesta apresentação será realçada a necessidade de um consumo “sustentável” da
água, serão identificados os principais poluentes das águas, será feita uma particular referência a água para
consumo humano por esta ser uma das utilizações mais exigente de água sem poluentes, falar-se-á sobre os
mares e oceanos por estes serem exemplos importantes de poluição das águas e, por fim, serão abordadas
formas de combater o problema da poluição das águas.
Um pedacinho de fantasia “A dança de polígonos” 21 a 27-11-05
A percepção visual é uma actividade que envolve pensamento e raciocínio. A actividade desdobra-se em dois
momentos: No primeiro momento os participantes assistem a um “bailado” cujos protagonistas são figuras
geométricas – triângulos e quadriláteros – criando-se um ambiente imaginativo susceptível de proporcionar a
visualização e o estudo da forma, numa perspectiva de ensino básico. Num segunro momento, realizam
algumas actividades (dobragem e cortes) que lhes permitam aprender a conhecer, a explorar e a praticar a
observação directa, deixando-se impressionar por efeitos inesperados...
Vem construir uma cidade sustentável! 21 a 27-11-05
Através de um jogo em grupo as crianças são levadas a reflectir sobre o modo de vida urbano, o modo com
são geradas emissões de poluentes atmosféricos e qual o seu impacto nas alterações climáticas. Pretende-se
que os participantes compreendam a importância da estrutura do espaço urbano e do tipo de equipamentos
instalados para a sustentabilidade das cidades. Os participantes são organizados em duas equipas que vão
competir entre si para criar a cidade mais sustentável. A actividade envolve um jogo de mesa com peças
diversas, em que os participantes são convidados a construir a sua cidade. Posteriormente e através da
análise da estrutura urbana construída e das opções de distribuição dos espaços, equipamentos e veículos,
pretende-se que os participantes avaliem o contributo da cidade em termos de emissões de gases com efeito
de estufa e avaliem o seu impacto nas alterações do clima. Pretende-se através do diálogo e da
interactividade que os participantes apreendam o significado de conceitos ambientais e da importância das
emissões de poluição atmosférica nas alterações do clima.
Ensinar a ensinar materiais 21 a 27-11-05
Apoiar os professores no ensino dos materiais. Criar nos jovens pré-universitários a curiosidade e o gosto pela
engenharia de materiais. Durante a Semana da C&T o Departamento de Engenharia Cerâmica e do Vidro
estará preferencialmente aberto a visitas de professores do ensino secundário ligados ao ensino da física e da
química. O objectivo principal é ajudar esses professores a despertar nos seus alunos o interesse pelo estudo
dos materiais. As visitas, sujeitas a marcação prévia, serão organizadas em grupos relativamente pequenos,
que, acompanhados por docentes do DECV, serão envolvidos na realização de experiências laboratoriais
relacionadas com a ciência e engenharia de materiais. Alguns dos trabalhos serão complementados com
sessões curtas de microscopia electrónica. Para além destas actividades, de carácter mais dirigido, serão
ainda organizados, com um objectivo mais abrangente, alguns “Cafés de Ciência”, dirigidos para o mesmo tipo
de público com debate de temas na área da inovação em materiais e moderados por convidados de
reconhecido mérito.
O puxador da porta visto à lupa... 21 a 27-11-05
Trata-se de uma conversa sobre as actividades desenvolvidas no Laboratório Surface Engineering and
Nantechnology Group - SENT. Esta iniciativa pretende dar a conhecer algumas das actividades desenvolvidas
ao longo do ano lectivo no SENT, nomeadamente revestimentos de protecção, decoração e alguns dos
equipamentos para a preparação de amostras.
Plani-paper 21 a 27-11-05
133
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Anexo 4: Lista e descrição de actividades da UA
Semana da Ciência e Tecnologia, 2004 e 2005 Data
Durante um percurso pelo Campus da Universidade de Aveiro os alunos fazem uma pequena prova de
orientação que permitirá resolver um verdadeiro quebra-cabeças. O desafio colocado a cada equipa é que
sejam planeadores por um dia e descubram algumas das actividades que um planeador pode fazer. Os
objectivos deste jogo são desenvolver a capacidade de leitura do enquadramento espacial existente do
Campus da Universidade, reflectindo sobre as diferentes componentes do Ordenamento do Território
(Planeamento dos Recursos Naturais, Planeamento Urbano e Planeamento Regional). Cada equipa, ao longo
do percurso, deverá reunir um conjunto de informações sobre as actividades e espaços da Universidade que
ajudará a resolver alguns enigmas. O jogo termina quando as equipas forem capazes de resolver o enigma
final.
Projecto Euro 2004 – Carro-Maca 21 a 27-11-05
Apresentação do Carro-Maca através da projecção de um vídeo e possibilidade de o testar. Esta apresentação
pretende demonstrar a motivação para a realização do veículo, os testes pelo qual o protótipo passou, as suas
características técnicas bem como expor o seu impacto sobre a sociedade e as perspectivas para o futuro no
sentido de desenvolver novas técnicas no âmbito da locomoção de veículos.
Investiga a Matemática - Parte 1: Vem ver como os matemáticos investigam e como resolvem problemas
21 a 27-11-05
matemáticos
A actividade consiste numa apresentação resumida, informal e não técnica, da investigação desenvolvida no
Departamento de Matemática . O objectivo da conversa não será tanto a apresentação dos temas em
investigação, mas sim, como se trabalha em investigação em Matemática numa universidade, mostrando que
os docentes universitários, para além das aulas, também se dedicam a esta componente da sua profissão.
Investiga a Matemática - Parte 2: A matemática e os seus problemas 21 a 27-11-05
O desenvolvimento de um título com triplo sentido. Com esta apresentação pretende-se abordar algumas
dificuldades intrinsecamente ligadas ao estudo da matemática, focalizar a importância dos problemas
matemáticos enquanto instrumentos de ensino/aprendizagem e, ao seu melhor nível, destacar o quanto têm
contribuído para o seu extraordinário desenvolvimento.
Introdução Prática de Simulação Numérica 21 a 27-11-05
Esta iniciativa pretende introduzir a Simulação Numérica. Introdução ao “Industrial Code”. Pretende-se que o
público resolva com estes códigos alguns dos problemas técnicos apresentados na altura.
Pesar e medir o som - experiências acústicas 21 a 27-11-05
O som rodeia-nos permanentemente. Quando conversamos, quando ouvimos música, na rua ou em casa, de
dia e de noite, o som é uma presença constante. A sua percepção pelo nosso ouvido depende do nosso
aparelho auditivo e do comportamento do próprio som. Compreender alguns dos aspectos da sua natureza
pode ajudar-nos a perceber melhor o seu comportamento. Esta actividade inicia-se por uma exposição sobre a
problemática da mensuração do som e das suas características, em analogia com os corpos sólidos. Segue-
se uma série de experiências e medições à intensidade e frequência feitas com a colaboração dos próprios
participantes sobre o som de alguns instrumentos, sons sintetizados, sons corporais e da voz humana.
Termina-se a actividade com a enunciação de conclusões sobre os parâmetros frequência e intensidade do
som.
Do vento se faz luz! (1.º e 2.ºCiclo) 21 a 27-11-05
O vento é uma importante fonte de energia, que sendo renovável, é amiga do ambiente. Os geradores eólicos
permitem captar a energia do vento e transformá-la em electricidade para iluminar as nossas casas, para
utilizar nas indústrias e nos veículos eléctricos. Nesta actividade é dado a conhecer aos participantes o
funcionamento dos geradores eólicos e como a partir do vento se produz electricidade. A actividade inicia-se
com uma curta conversa sobre o vento e o modo como a energia eólica pode ser utilizada para produzir
electricidade. É referida ainda a sua importância como fonte de energia renovável e o seu contributo para a
preservação do ambiente e para o desenvolvimento sustentável e é apresentado um modelo em maqueta que
permite, através da visualização, uma melhor apreensão dos conceitos e conhecimentos transmitidos. Os
participantes são depois convidados a construir os seus próprios moinhos de vento em papel. A actividade
finaliza com uma experiência em que são colocados no túnel de vento os moinhos construídos para
visualização do efeito do vento e dos princípios descritos. Pretende-se que no final da actividade os
participantes compreendam a importância das energias renováveis para diminuir a poluição atmosférica,
melhorar o ambiente e proporcionar um futuro mais sustentável.
Hológrafo por um dia 21 a 27-11-05
Vem fazer o teu holograma! O Laboratório de Holografia abre as portas ao público em geral e convida os mais
curiosos e destemidos a conhecerem o mundo dos hologramas. Os participantes irão trabalhar no laboratório,
tornando-se “Hológrafos por um dia”. Nesta actividade será introduzida a teoria da holografia e explicada uma
técnica de registo holográfico. Pretende-se que os participantes façam o seu próprio holograma durante uma
sessão experimental.
134
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Anexo 4: Lista e descrição de actividades da UA
Semana da Ciência e Tecnologia, 2004 e 2005 Data
Planeamento e desenvolvimento Eco-Industrial 21 a 27-11-05
Com esta actividade pretende-se definir, justificar e exemplificar a aplicação de um modelo de
desenvolvimento Eco-Industrial, de forma a suscitar a discussão em torno da oportunidade que uma estratégia
desta natureza constitui para impulsionar a competitividade da economia regional, bem como os benefícios
que acarreta para as comunidades e para o ambiente. A procura de modelos de desenvolvimento que
integrem a promoção do desenvolvimento económico e a protecção ambiental encontra nas actuais
estratégias de Desenvolvimento Eco-Industrial (DEI) um campo vasto de oportunidades que importa conhecer
e explorar. Este novo conceito parte do desenvolvimento de ligações com a comunidade para criar e identificar
oportunidades económicas com repercussões positivas na preservação ambiental, com base, entre outros, no
aproveitamento dos fluxos de materiais e energia gerados. O DEI alicerça-se nos princípios da Ecologia
Industrial e o principal desafio à sua aplicação prática é a constituição de Zonas Eco-Industriais (ZEI).
A qualidade da água no meu poço 21 a 27-11-05
Traz uma amostra de água de um poço/furo e analisa a sua qualidade Os participantes são convidados a
trazer e caracterizar amostras de água (2L) de poços ou outras captações privadas, mediante alguns
parâmetros físico-químicos com vista a uma utilização doméstica. Após uma breve explicação do parâmetro a
determinar, do método experimental a utilizar e da legislação em vigor, os participantes realizarão os testes.
Os resultados serão comparados com os valores das normas legais e serão igualmente identificados outros
parâmetros, de modo a identificar as possíveis utilizações/destinos a dar à água dessa captação. Esta
actividade permitirá um contacto directo com métodos experimentais relativamente simples de caracterização
de uma água e a consulta e interpretação de legislação.
Como funcionam os Sistemas de Comunicação Ópticos 21 a 27-11-05
Os sistemas de comunicação ópticos têm vindo a conhecer uma evolução constante, estando presentes na
quase totalidade dos sistemas de telecomunicações actuais. Breve apresentação dos sistemas de
comunicação ópticos, seguindo-se a utilização pelos alunos de um kit que lhes permitirá aprender os principais
conceitos envolvidos na transmissão através de uma fibra óptica, bem como na emissão e recepção de luz.
Para finalizar serão apresentadas algumas experiências laboratoriais, em particular a emissão e propagação
de impulsos ópticos NRZ e RZ, a conversão de comprimento de onda e medição da resposta de filtros ópticos,
usando um analisador de espectros óptico.
Tá-se bem à BEIRA-MAR… o ordenamento e protecção dos Recursos e Zonas Costeiras (1º ciclo) 21 a 27-11-05
Oficinas de trabalho sobre a temática do Ordenamento e Protecção dos Recursos e das Zonas Costeiras. Esta
actividade tem os seguintes objectivos: alertar para os conflitos de uso existentes nestas áreas, os riscos
associados e o papel que as populações podem e devem desempenhar na protecção deste território e dos
seus recursos; dar a conhecer as figuras e instrumentos de planeamento existentes, bem como o papel que os
utentes e residentes podem e devem desempenhar na sua implementação. A Dr.ª Maresia e o seu grupo de
investigadores, Água Salgada, Mexilhão e Companhia propõem um conjunto variado de actividades como o
filme O Mar Conta Histórias; Ao Sabor do Vento e ao Som das Ondas – jogo de identificação de sons e
imagens; Entre uma Baleia e um Tubarão – jogo de identificação de recursos costeiros, utilizadores e
impactes; Mas quem é o Responsável?... – jogo de consciencialização cívica que pretende alertar o público-
alvo para os problemas existentes no litoral e nos oceanos e simultaneamente mostrar e incentivar formas
mais sustentadas de uso e conservação dos seus recursos.
Como radiam as antenas 21 a 27-11-05
A Rádio, a Televisão e o sistema GPS são alguns dos exemplos da recepção de informação através de ondas
electromagnéticas. Um dos componentes fundamentais dum sistema de comunicações usando ondas
electromagnéticas propagando-se em meio livre é designado por antena. As ondas electromagnéticas
recebidas pelos utilizadores são emitidas por emissores tendo-se neste caso sistemas unidireccionais.
Também conhecidos são os sistemas bidireccionais, nos quais os utilizadores transmitem e recebem
informação transmitindo e recebendo ondas electromagnéticas. Os telemóveis são sem dúvida a utilização
mais corrente, mas os simples walkie-talkies, as comunicações entre radioamadores e as comunicações entre
as forças policiais e militares são outros bons exemplos. Para o desempenho duma antena é muito importante
saber como é que ela emite e recebe ondas electromagnéticas em função da direcção. A representação das
características de radiação duma antena em função da direcção designa-se por diagrama de radiação. Nesta
actividade, vai-se mostrar como se mede e como se representa o diagrama de radiação duma antena.
Encontro Regional de Marketing 21 a 27-11-05
Touch Points, Marketing Experiencial O Encontro Regional de Marketing está inserido na Semana Nacional de
Marketing, promovida pela Associação Portuguesa de Profissionais de Marketing (APPM) e visa promover a
reflexão e debate sobre as grandes questões, novas tendências e desafios que as constantes transformações
da sociedade contemporânea colocam ao Marketing. Serão apresentadas soluções tecnológicas que permitem
gerir melhor a relação com o cliente e tornar as campanhas de marketing mais eficientes e eficazes.
135
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Anexo 4: Lista e descrição de actividades da UA
Semana da Ciência e Tecnologia, 2004 e 2005 Data
Viver a Cidade 21 a 27-11-05
Workshop sobre o tema Viver a Cidade, onde se simulará a elaboração de um plano de ordenamento de
cidade ou vila onde residam os participantes. O objectivo deste projecto é simular a actividade de um
planeador do território na elaboração de um plano de urbanização de uma cidade ou vila. O exercício implica a
constituição de uma equipa de trabalho constituída por 4 elementos que tem a tarefa de identificar os
principais problemas do local onde vive ou de vivências do seu quotidiano (local de residência, espaço da
escola, a deslocação para a escola, ida às compras, saída à noite ou a ida de fim-de-semana) e procurar
apontar algumas soluções possíveis. Para tal, contarão com a colaboração de alunos da licenciatura em
Planeamento Regional e Urbano. Seguidamente cada grupo apresenta à assembleia as principais conclusões
e procura discutir a validade e exequibilidade de cada uma das acções propostas. Pretende-se que o
documento final com o conjunto de problemas e recomendações seja enviado para publicação em Jornal
Escolar ou em Jornal Regional (Futuro dos jovens não passa pela vila, JN 25/11/04).
Trilho: à descoberta do Parque Infante D. Pedro 21 a 27-11-05
Cada vez mais temos que aproveitar os espaços verdes urbanos para a sensibilização da comunidade e para
o despertar da educação ambiental. O Parque Infante D. Pedro em Aveiro, embora com uma área
relativamente pequena, possui uma considerável diversidade florística. A ideia é dar a conhecer esse
património de uma maneira divertida em que os participantes seguirão um trilho onde terão que responder a
perguntas sobre vários aspectos do Parque. Para isso serão fornecidas algumas fontes de consulta entre elas
um desdobrável sobre o Parque.
A ver filmes também se aprende Matemática 21 a 27-11-05
Ao longo de 4 dias, ao início da tarde, serão projectados filmes de divulgação científica. Durante as sessões
estará presente um docente do Departamento de Matemática, que comentará o conteúdo científico do filme.
A Química Orgânica na melhoria das condições de vida do Homem 21 a 27-11-05
O contributo da Química Orgânica na preparação de novos medicamentos para tratamento das doenças
crónicas do século XX e XXI, a depressão, o cancro e a SIDA Far-se-á uma breve resenha da evolução da
Química Orgânica e de que modo contribuiu para melhorar as condições de vida do Homem. Evidenciar-se-á a
preparação de novos medicamentos usados no tratamento de doenças crónicas do século XX e XXI,
nomeadamente a depressão, o cancro e a SIDA. Terminar-se-á a apresentação com a descrição da
descoberta do Viagra.
Reconstrução 3D de ambientes reais 21 a 27-11-05
Reconstrução de modelos 3D de ambientes reais a partir de dados de laser e de fotografias digitais. Durante
esta palestra serão apresentados diversos resultados no campo da Reconstrução Tridimensional de
ambientes reais existentes (edifícios, salas, ...) a partir de dados medidos com laser e fotografias digitais.
Conhecer a Biblioteca da UA 21 a 27-11-05
No átrio da biblioteca, poderás explorar uma Visita Virtual à Biblioteca da UA e assistir a um filme sobre os
Serviços de Documentação. Serão realizadas visitas ao edifício da biblioteca e disponibilizados materiais de
apoio para o uso da informação.
O Grupo de Desenvolvimento de Produto e Biomecânica 21 a 27-11-05
Decorrerão duas palestras, cada uma com duração de 20 minutos e intituladas Desenvolvimentos em
Biomecânica (pelo Engº. António Completo) e O Desenvolvimento de Produto - Casos de Estudo (pelo Engº.
Pedro Talaia). Serão apresentadas imagens dos vários projectos desenvolvidos, nomeadamente da célula de
sobrevivência para canídeos, máquina de lavar roupa interactiva, triciclo, carro-maca, entre outros.
Seguidamente haverá um debate durante o qual os participantes poderão esclarecer as suas dúvidas. Esta
iniciativa pretende despertar o interesse no público para os trabalhos desenvolvidos no Laboratório de
Desenvolvimento de Produto e Biomecânica do Departamento de Engenharia Mecânica.
Encontro Regional de Marketing 21 a 27-11-05
Touch Points, Marketing Experiencial O Encontro Regional de Marketing está inserido na Semana Nacional de
Marketing, promovida pela Associação Portuguesa de Profissionais de Marketing (APPM) e visa promover a
reflexão e debate sobre as grandes questões, novas tendências e desafios que as constantes transformações
da sociedade contemporânea colocam ao Marketing. Serão apresentadas soluções tecnológicas que permitem
gerir melhor a relação com o cliente e tornar as campanhas de marketing mais eficientes e eficazes.
Propomos-te que sejas contabilista por um dia! 21 a 27-11-05
Escolhe a tua empresa no nosso mercado virtual. Efectua algumas das transacções correntes na vida de uma
empresa, recorrendo à nossa consultoria e ferramentas de trabalho (aplicações informáticas, papel e lápis).
Simula a profissão e verás como ela te seduz.
136
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Anexo 4: Lista e descrição de actividades da UA
Semana da Ciência e Tecnologia, 2004 e 2005 Data
Fazer Chover… 21 a 27-11-05
O conhecimento do ciclo da água e dos efeitos das mudanças que ocorreram nas últimas décadas (ao nível do
uso do solo e do clima) nos processos hidrológicos constitui informação necessária para a adopção de
medidas preventivas de fenómenos extremos como as cheias e as secas. Demonstração de instrumentos de
campo utilizados para a medição de fenómenos ambientais. Neste painel poderão assistir ao funcionamento
de aparelhos como um simulador de chuva, instrumentos destinados à medição da escorrência e da infiltração
da água de chuva no solo, a erosão decorrente, a determinação de parâmetros físicos básicos do solo e da
vegetação.
Energia Renovável: Biocombustíveis 21 a 27-11-05
Conheça alguns biocombustíveis: os sólidos (ex. biomassa florestal), os líquidos (ex. biodiesel) e os gasosos
(ex. biogás). Será efectuada uma apresentação em que serão referidos alguns aspectos relacionados com a
origem e principais características de alguns biocombustíveis, bem como alguns processos em que podem ser
utilizados, e impactos ambientais associados. Paralelamente decorrerá uma visita à instalação de combustão
de leito fluidizado à escala piloto existente no Departamento de Ambiente e Ordenamento, onde têm sido
efectuados estudos com alguns tipos de biocombustíveis sólidos. Serão apresentados o modo de operação e
respectivos sistemas de controlo do processo e caracterização do efluente gasoso.
Tá-se bem à BEIRA-MAR… o ordenamento e protecção dos Recursos e Zonas Costeiras (2º e 3º ciclos) 21 a 27-11-05
Oficinas de trabalho sobre a temática do Ordenamento e Protecção dos Recursos e das Zonas Costeiras. Esta
actividade tem os seguintes objectivos: alertar para os conflitos de uso existentes nestas áreas, os riscos
associados e o papel que as populações podem e devem desempenhar na protecção deste território e dos
seus recursos; dar a conhecer as figuras e instrumentos de planeamento existentes, bem como o papel que os
utentes e residentes podem e devem desempenhar na sua implementação. A actividade mostra-nos a
existência de conflitos, usos e riscos e, através da apresentação e trabalho interactivo sobre um caso prático,
a utilização de instrumentos de planeamento para resolução dos problemas existentes.
Descoberta das línguas através de multimédia 21 a 27-11-05
Escrever, ler, ouvir e falar na tua língua preferida – Inglês ou Francês – com a ajuda do computador. Em
primeiro lugar, vamos conhecer-nos. Para que possas descobrir tudo o que o ISCA te pode oferecer, mostrar-
te-emos um pequeno filme. Em seguida, irás reconhecer os espaços que acabaste de ver, na visita que farás
à escola. Por último, passaremos à descoberta das línguas através de um programa multimédia. Poderás
escolher entre o Inglês e o Francês, aplicando os teus conhecimentos de forma divertida. Com a ajuda do teu
computador, vais escrever, ler, ouvir e falar na tua língua preferida. Não te preocupes! Poderás escolher vários
níveis de dificuldade. Esperamos por ti!
Bibliotecas Digitais 21 a 27-11-05
As Bibliotecas Digitais trazem novas oportunidades na disseminação e difusão de conteúdos. A informação
que antes era local e de difícil acesso passa a estar a uma curta distância dos potenciais interessados, à
distância de um ‘clik’. Que oportunidades e ameaças surgem neste novo modelo de acesso à informação. O
que é um Biblioteca Digital? Quais as suas funções, os seus prós e contras? Estas são algumas das questões
que serão abordadas nesta actividade que tem como principal objectivo criar uma discussão saudável em
torno deste tema actual. Numa era em que estão disponíveis uma série de conteúdos livres na Internet:
músicas, livros, revistas, etc., que desafios surgem para que o acesso a esses mesmos conteúdos seja feito
de uma forma coordenada evitando um caos de informação. Esta discussão será acompanhada com a
demonstração de alguns projectos desenvolvidos pela Universidade de Aveiro relacionados com a temática
das Bibliotecas Digitais, nomeadamente os Diários da Assembleia da República Electrónicos e o projecto
SInBAD, a Biblioteca e Arquivo Digital da Universidade de Aveiro. Está a sociedade preparada para receber as
Bibliotecas Digitais? A tua opinião também conta. Participa neste debate.
A biomassa como fonte de novos plásticos: uma alternativa “verde” ao petróleo 21 a 27-11-05
Espumas elásticas e plásticos recicláveis... Como os obter? A exploração de recursos renováveis nos sectores
da energia e dos materiais representa uma actividade de investigação e de produção industrial cada vez mais
importante no mundo, porque constitui a estratégia de desenvolvimento sustentável. A palestra aborda a
utilização de recursos renováveis pela energia solar, como alguns subprodutos das actividades agrícolas e
florestais, para elaborar novos materiais poliméricos. Os exemplos escolhidos incluem a valorização do pó da
cortiça, das fibras de madeira, do amido de milho e de quitina, um recurso de origem animal extraído da
carapaça de crustáceos. Os materiais obtidos, como espumas elásticas ou rígidas, plásticos reforçados por
fibras naturais, filmes para embalagem, adesivos, resinas para tintas, etc., são biodegradáveis e/ou
recicláveis.
Mat 12 21 a 27-11-05
Uma edição da competição Mat 12, especialmente preparada para comemorar a Semana Aberta. Alunos de
escolas secundárias estão convidados a participar numa competição matemática. A competição será
preparada nos mesmos moldes da competição nacional Mat 12, apenas com uma dimensão mais reduzida...
137
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Anexo 4: Lista e descrição de actividades da UA
Semana da Ciência e Tecnologia, 2004 e 2005 Data
Ruído Industrial: O trabalho nem sempre dá saúde 21 a 27-11-05
A exposição ao ruído em ambientes industriais, sem protecção adequada, pode ter graves consequências
para a saúde dos trabalhadores. A actividade visa apresentar os fundamentos da Física do Som e das
Vibrações, definindo conceitos básicos. Pretende-se igualmente fornecer vários exemplos típicos de ruído
industrial e formas de mitigar os correspondentes efeitos. O principal instrumento destinado a medir o ruído, o
sonómetro, será também apresentado e o respectivo funcionamento demonstrado.
Experiências de Química – “Uma Aventura no Laboratório!!!!!” 21 a 27-11-05
Brincar com a Química através de pequenas experiências Realização de experiências Químicas
demonstrativas de alguns conceitos apreendidos e relacionados com a vivência diária dos participantes, que
permitam verificar como pode ser divertido “brincar” com a Química.
Experiências de Química – Vamos fazer experiências divertidas! 21 a 27-11-05
Com esta actividade pretende-se despertar e desenvolver o gosto pela ciência em geral e pela química em
particular, nos alunos do ensino pré-escolar. Para isso foram seleccionadas algumas actividades
demonstrativas, adaptadas de modo a poderem ser realizadas com material simples, sem qualquer dificuldade
nem perigosidade para os alunos. Realização de experiências Químicas simples, divertidas e que despertem
nos visitantes a vontade de experimentar as actividades propostas.
Onde está a Química no ambiente? 21 a 27-11-05
Os manuais escolares afirmam a importância da química no nosso quotidiano e também como uma disciplina
estruturante do pensamento. No entanto, a complexidade dos sistemas naturais faz com que se recorra
poucas vezes a exemplos com esta origem. Quando se fala de química ao nível introdutório, no ensino básico,
os alunos não têm a percepção do objecto de estudo desta disciplina, para lá do que lhes é dito nos manuais
escolares e na sala de aula. Esta questão colocada há uns anos por alunos do ensino básico servirá de fio
condutor para explorar algumas das questões que os alunos participantes podem colocar ao longo da sessão.
Pretende ser uma sessão interactiva com os participantes na qual se tentará responder, de forma acessível e
rigorosa às questões colocadas.
Vem construir uma cidade sustentável! 21 a 27-11-05
Através de um jogo em grupo as crianças são levadas a reflectir sobre o modo de vida urbano, o modo com
são geradas emissões de poluentes atmosféricos e qual o seu impacto nas alterações climáticas. Pretende-se
que os participantes compreendam a importância da estrutura do espaço urbano e do tipo de equipamentos
instalados para a sustentabilidade das cidades. Os participantes são organizados em duas equipas que vão
competir entre si para criar a cidade mais sustentável. A actividade envolve um jogo de mesa com peças
diversas, em que os participantes são convidados a construir a sua cidade. Posteriormente e através da
análise da estrutura urbana construída e das opções de distribuição dos espaços, equipamentos e veículos,
pretende-se que os participantes avaliem o contributo da cidade em termos de emissões de gases com efeito
de estufa e avaliem o seu impacto nas alterações do clima. Pretende-se através do diálogo e da
interactividade que os participantes apreendam o significado de conceitos ambientais e da importância das
emissões de poluição atmosférica nas alterações do clima.
673 km / litro de gasolina com o veículo Ícaro 21 a 27-11-05
Apresentação do veículo ecológico da UA - Ícaro. A UA tem vindo a desenvolver desde 1997 um veículo
ecológico para concorrer às provas ecológicas internacionais Eco-maratona Shell. Nesta actividade
apresentaremos o projecto e visitaremos o “ninho do Ícaro”, laboratório onde todo o desenvolvimento tem
lugar.
Do vento se faz luz! (3.º Ciclo e Secundário) 21 a 27-11-05
O vento é uma importante fonte de energia, que sendo renovável, é amiga do ambiente. Os geradores eólicos
permitem captar a energia do vento e transformá-la em electricidade para iluminar as nossas casas e para
utilizar nas indústrias e nos transportes. Nesta actividade é dado a conhecer aos participantes o
funcionamento dos geradores eólicos e como a partir do vento se produz electricidade. Esta actividade está
dividida em 3 partes sequenciais que levam a compreender a importância da energia eólica e o modo como
pode ser utilizada na produção de electricidade: 1 - Apresentação (com projecção de imagens) de conceitos
básicos sobre energias renováveis e sua importância ambiental, o funcionamento das turbinas eólicas e sua
construção; 2 - Apresentação de um modelo, em maqueta, demonstrativo do funcionamento de um
aproveitamento eólico; 3 - Experiência em túnel de vento sobre as condicionantes geográficas na localização
dos moinhos de vento (efeitos aerodinâmicos, relevo, etc.). Pretende-se que no final da actividade os
participantes compreendam a importância das energias renováveis para diminuir a poluição atmosférica,
melhorar o ambiente e proporcionar um futuro mais sustentável.
Dramatic play reading 21 a 27-11-05
A dramatised reading of the play Equus by Peter Shaffer. The play deals with emotive issues to do with human
realtionships, sexual behaviour and current problems in society.
138
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Anexo 4: Lista e descrição de actividades da UA
Semana da Ciência e Tecnologia, 2004 e 2005 Data
Estratégias de sobrevivência nas plantas 21 a 27-11-05
Tal como os animais, as plantas também têm que desenvolver mecanismos, nomeadamente ao nível da
reprodução, caso contrário a sua espécie pode correr o risco de extinção. Tendo em conta a biodiversidade e
os diferentes grupos das plantas vasculares, será feita uma abordagem teórica (ilustrada com fotografias de
material de campo e de herbário) aos mecanismos de sobrevivência das plantas, com particular referência a
aspectos directa ou indirectamente relacionados com a reprodução. Deste modo, serão observados aspectos
morfológicos, à vista desarmada, lupa e microscópio, de algumas espécies de plantas existentes em Portugal
e no estrangeiro (ex: Timor-Leste).
Restauração de ecossistemas espontâneos 21 a 27-11-05
Não é preciso ser biólogo para sentir o apelo da Natureza ... Um testemunho. O Doutor Paulo Domingues é
um grande defensor da Natureza e, desde 1990, tem desenvolvido trabalhos de campo na área, da
restauração ecológica e paisagística, no Concelho de Águeda. Esse trabalho deu origem à reconversão de
uma área com cerca de 5 ha, até 2004. Realizou um elevado número de acções de educação ambiental em
escolas e associações, sobre as temáticas da floresta e da reciclagem. Como vão poder comprovar, o Doutor
Paulo Domingues já há muito tempo que passou da palavra à acção, reconvertendo áreas áridas de eucaliptal
em bosque autóctone.
Introdução Prática de Simulação Numérica 21 a 27-11-05
Esta iniciativa pretende introduzir a Simulação Numérica. Introdução ao “Industrial Code”. Pretende-se que o
público resolva com estes códigos alguns dos problemas técnicos apresentados na altura.
Vem experimentar o TEXMat 21 a 27-11-05
Alunos do 2º ciclo podem brincar interactivamente com conceitos matemáticos. Alunos do 2º Ciclo do Ensino
Básico virão ao DMUA para participar no processo de aferição do TextMat, um projecto em curso de tutorias
on-line de Matemática. O TextMat contém construções geométricas interactivas, exercícios gerados e
validados automaticamente, e problemas de resposta aberta.
Lições do Príncipe da Matemática - Gauss e a Geodesia 21 a 27-11-05
Palestra proferida pelo Comandante António Canas, da Escola Naval da Armada. A sessão é dedicada à
contribuição de Gauss para a Geodesia e integra-se num ciclo de palestras comemorativas do 150º
Aniversário da morte de Carl Friederich Gauss. Desde a Antiguidade que a determinação das dimensões da
Terra foi preocupação de inúmeros homens de ciência. No entanto, apenas a partir do século XVII começaram
a estar disponíveis os instrumentos e os processos de cálculo adequados para iniciar a tarefa de medir a Terra
de uma forma sistemática. Nos séculos seguintes foram realizados inúmeros trabalhos no sentido de levar a
cabo "faina" tão gigantesca. Nesta palestra começaremos por apresentar uma breve evolução histórica dos
processos usados para levar a cabo levantamentos geodésicos, dando especial atenção a algumas das mais
importantes evoluções ocorridas a partir do século XVII. Numa segunda parte apresentaremos os principais
contributos de Gauss para a geodesia. Estes contributos podem ser divididos em quatro grandes áreas:
processos de cálculo, trabalhos de campo, instrumentos e investigação em áreas complementares usadas
como auxiliares da geodesia.
Dos 0ºC aos -195ºC em 10 segundos 21 a 27-11-05
Quando a temperatura é muito baixa é possível obter ar líquido, oxigénio líquido e até dióxido de carbono
sólido. Este é o ponto de partida para um conjunto de actividades que revelam um mundo totalmente diferente
do nosso, onde as bananas parecem pedras, se faz "champanhe" com água e o oxigénio pinga para o chão...
Esta actividade começa por utilizar ar líquido para arrefecer a temperaturas próximas de -195 ºC vários
objectos comuns do nosso dia a dia, alterando deste modo as suas propriedades. Seguidamente, são
apresentados alguns efeitos resultantes do aquecimento rápido do ar líquido e do “gelo seco”, nomeadamente,
o aumento de volume dos gases. Por último, as propriedades de alguns dos gases que compõem a atmosfera
são ilustrados brevemente, com recurso à observação visual.
12º Encontro de Estudos Portugueses Centenário de Branquinho da Fonseca: presença e outros percursos 21 a 27-11-05
Durante dois dias, serão apresentadas várias comunicações acerca de Branquinho da Fonseca e de alguns
escritores portugueses seus contemporâneos, como, por exemplo, José Régio e Miguel Torga. Comemora-se
o centenário do nascimento de Branquinho da Fonseca, escritor de grande mérito e fundador das Bibliotecas
Itinerantes da Fundação Calouste Gulbenkian.
Visita ao Instituto de Engenharia Electrónica e Telemática de Aveiro 21 a 27-11-05
Breve exposição das actividades que decorrem no IEETA. Visita aos laboratórios de investigação do Instituto
de Engenharia Electrónica e Telemática de Aveiro.
139
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Anexo 4: Lista e descrição de actividades da UA
Semana da Ciência e Tecnologia, 2004 e 2005 Data
Como são os Laboratórios de aulas e de investigação do Departamento de Química? 21 a 27-11-05
Uma demonstração num espectrofotómetro de absorção atómica com chama e num espectrómetro de massa
são alguns dos equipamentos que poderás encontrar nos laboratórios do Departamento de Química. Visita
guiada aos laboratórios de investigação dos diferentes grupos de Química do respectivo Departamento, onde
será explicado algum do equipamento existente, sua aplicação e funcionamento (descrição sumária). No que
se relaciona com a investigação, serão dados alguns exemplos de projectos em que o Departamento está
envolvido e realçada a importância da investigação desenvolvida. No âmbito destas visitas serão efectuadas
demonstrações, por exemplo, num espectrofotómetro de absorção atómica com chama, num espectrómetro
de massa, em equipamentos de ressonância magnética nuclear (líquidos e sólidos), em sistemas
cromatográficos, e equipamentos relativos a engenharia química (leitos fluidizados, permutadores de calor,
colunas de destilação).
CiberCompetições Robóticas: RoboCup - jogadores de futebol virtuais" CiberRato - robôs virtuais perdidos
21 a 27-11-05
num labirinto
Em ambiente virtual conheça estas duas competições. Ajude os robôs a vencer o desafio! Apresentação das 2
competições Robóticas, em ambiente simulado. No RoboCup, 2 equipas de 11 ciber-jogadores defrontam-se
num ciber-relvado através de um simulador. O desafio colocado aos participantes é o desenvolvimento dos
ciber-jogadores, peças de software autónomas mas que têm de trabalhar em equipa. No CiberRato, 3 ciber-
robôs são colocados num ciber-labirinto por eles desconhecido. Aquele que resolver o labirinto em menos
tempo, sem penalizações, ganha.
Energias alternativas: uma certeza num futuro incerto 21 a 27-11-05
A crescente dependência da UE em relação a países terceiros em termos energéticos vai obrigar a repensar o
cenário energético nas próximas décadas. O papel a desempenhar pelas chamadas “energias alternativas”
será neste âmbito fundamental. A actividade proposta visa apresentar a situação energética a nível nacional e
internacional, em particular da UE. Pretende-se igualmente fornecer vários exemplos de políticas de adopção
de energias alternativas e dos correspondentes resultados em vários países.
À volta de uma bebida tipo COLA 21 a 27-11-05
Algumas propriedades físicas e químicas resultantes da composição de bebidas com a denominação COLA À
volta das bebidas com denominação COLA existe um conjunto de ideias que resultam de transferência de
conhecimentos científicos em contextos não adequados. Poder-se-á dizer que é um bom exemplo de
aplicação de conhecimentos científicos usados de forma incompleta ou mesmo incorrecta. Por outro lado
também se podem realizar algumas experiências simples e interessantes usando este tipo de bebidas.
Tá-se bem à BEIRA-MAR… o ordenamento e protecção dos Recursos e Zonas Costeiras (Secundário) 21 a 27-11-05
Oficinas de trabalho sobre a temática do Ordenamento e Protecção dos Recursos e das Zonas Costeiras. Esta
actividade tem os seguintes objectivos: alertar para os conflitos de uso existentes nestas áreas, os riscos
associados e o papel que as populações podem e devem desempenhar na protecção deste território e dos
seus recursos; dar a conhecer as figuras e instrumentos de planeamento existentes, bem como o papel que os
utentes e residentes podem e devem desempenhar na sua implementação. A actividade centra-se no segundo
objectivo em articulação com o primeiro. Consiste na simulação/teatralização duma sessão de discussão
pública de um hipotético projecto costeiro (processo de participação pública) com representantes de diferentes
grupos de interesse (stakeholders).
O Cidadão e os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 21 a 27-11-05
A gestão dos resíduos que produzimos no nosso dia-a-dia é afinal uma tarefa em relação à qual detemos a
principal responsabilidade para um adequado encaminhamento... Destinada à generalidade dos cidadãos e
em particular aos alunos das escolas secundárias, esta palestra pretende sensibilizar para a necessidade de
adoptar comportamentos de cidadania em relação à gestão dos resíduos em casa, na escola e no local de
trabalho, bem como dar conta dos principais objectivos e orientações da União Europeia relativos ao assunto.
O Som Digital 21 a 27-11-05
Nesta palestra iremos mostrar como funcionam os dispositivos com som digital tipo MP3. O armazenamento
de música em formato digital tornou-se vulgar com o aparecimento dos CDs. Mais recentemente surgiu o
formato MP3, que associado à Internet faz com que o som no formato digital esteja por toda a parte. Contudo,
muitos de nós não sabemos como funcionam os aparelhos que gravam, manipulam e reproduzem o som no
formato digital. Nesta palestra iremos mostrar como funcionam utilizando uma linguagem acessível e
recorrendo a demonstrações. Será também apresentada um pouco da história do áudio de consumo e a sua
evolução tecnológica, desde os cilindros de Thomas Edison aos leitores de MP3.
Visita ao Instituto de Telecomunicações 21 a 27-11-05
140
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Anexo 4: Lista e descrição de actividades da UA
Semana da Ciência e Tecnologia, 2004 e 2005 Data
Breve exposição das actividades que decorrem no Instituto de Telecomunicações. Visita aos laboratórios de
investigação do Instituto de Telecomunicações.
Um pedacinho de fantasia “A dança de polígonos” 21 a 27-11-05
A percepção visual é uma actividade que envolve pensamento e raciocínio. A actividade desdobra-se em dois
momentos: No primeiro momento os participantes assistem a um “bailado” cujos protagonistas são figuras
geométricas – triângulos e quadriláteros – criando-se um ambiente imaginativo susceptível de proporcionar a
visualização e o estudo da forma, numa perspectiva de ensino básico. Num segunro momento, realizam
algumas actividades (dobragem e cortes) que lhes permitam aprender a conhecer, a explorar e a praticar a
observação directa, deixando-se impressionar por efeitos inesperados...
Sinais dos Tempos 21 a 27-11-05
Identificação dos principais sinais do fenómeno de alterações climáticas, perspectivando algumas soluções na
sua prevenção e mitigação. A problemática das alterações climáticas, é considerada actualmente uma das
mais sérias ameaças de âmbito global, apresentando já fortes impactos nos ecossistemas, na qualidade e
disponibilidade da água, na saúde humana e nas actividades económicas. O reconhecimento de alguns dos
sinais desta mudança, como o aumento da intensidade e frequência de eventos extremos, de pragas e
doenças, entre outros, revela-se determinante no desenvolvimento de estratégias e medidas de mitigação e
prevenção dos efeitos das Alterações Climáticas. Neste painel, pretende-se formar grupos de trabalho,
fomentando a discussão sobre este tema. Será feita uma breve apresentação do tema a discutir, onde são
fornecidas algumas pistas para a identificação dos sinais. A assistência é dividida em grupos que terão de
identificar dois sinais mais importantes do fenómeno Alterações Climáticas. Depois de enumerados os sinais,
são seleccionados os mais importantes, sendo atribuido um sinal a cada grupo de trabalho para a identificação
de soluções, mitigação dos efeitos das AC’s, actores a envolver e quais as limitações e dificuldades a
ultrapassar.
Computação, Matemática, Estatística, Bioquímica...a fusão necessária 21 a 27-11-05
O tratamento e recuperação de informação associado ao estudo de sistemas biológicos necessitam cada vez
mais uma abordagem multidisciplinar. A conjugação de diferentes instrumentos formais permite extrair e
interpretar a informação em função do sistema na sua total abrangência. Pretende-se, com esta palestra,
situar historicamente a motivação para esta fusão de diferentes áreas, relatar os avanços mais recentes (e.g.
tratamento de informação em genómica, micro-sensores de DNA, espectroscopia de sistemas biológicos etc.)
e perspectivar o futuro.
O puxador da porta visto à lupa... 21 a 27-11-05
Trata-se de uma conversa sobre as actividades desenvolvidas no Laboratório Surface Engineering and
Nantechnology Group - SENT. Esta iniciativa pretende dar a conhecer algumas das actividades desenvolvidas
ao longo do ano lectivo no SENT, nomeadamente revestimentos de protecção, decoração e alguns dos
equipamentos para a preparação de amostras.
Theremin Ultra-Sónico 21 a 27-11-05
Nesta palestra poderemos ver ao vivo um Theremin Ultra-Sónico, um instrumento que interage com o
instrumentista através da proximidade das suas mãos. Nesta actividade apresenta-se o projecto de um
instrumento musical, o Theremin Ultra-Sónico, cujo funcionamento é muito simples e consiste na aproximação
da mão ao instrumento, o que resulta numa alteração do timbre produzido. Essa variação no timbre, resulta da
transformação da medida da distância do instrumento musical à mão numa frequência diferente, assim quanto
mais próxima estiver a mão do instrumentista maior é a frequência resultante. Nesta palestra será feita uma
demonstração, bem como uma analogia com o Theremin original de 1922 que funcionava através de
radiofrequência. Será também apresentada a tecnologia usada neste projecto, quer no hardware, quer no
software implementados.
Localização de Pessoas Via Sistemas de RF 21 a 27-11-05
Visita aos projectos de localização de pessoas recorrendo a TAG’s de RFID. Quer saber onde está, quer saber
onde está o seu colega, quer saber onde encontrar um grupo de discussão real, quer jogar com pessoas
recorrendo a ambientes virtuais? Tudo isso já é possível recorrendo à localização de pessoas por recurso a
identificadores de RF. Esta visita/demonstração permitirá que uma pessoa utilize um TAG de RF e que os
colegas observem em tempo real, qual a sua posição no IT.
O Litoral em debate 21 a 27-11-05
141
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Anexo 4: Lista e descrição de actividades da UA
Semana da Ciência e Tecnologia, 2004 e 2005 Data
A Estratégia de Gestão Integrada para a Zona Costeira Portuguesa é um documento de política pública que
pretende delinear as linhas mestras para as intervenções no litoral num prazo de 20 anos. O desenvolvimento
desta estratégia pretende ainda dar resposta à Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30
de Maio de 2002, relativa à execução da gestão integrada da zona costeira na Europa (2002/413/CE).
Apresentação e debate do trabalho desenvolvido, até à data, pelo grupo de trabalho responsável pela
elaboração da Estratégia de Gestão Integrada para a zona Costeira Portuguesa. A equipa de trabalho,
nomeada pelo Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional, integra um
conjunto diversificado de técnicos e cientistas nacionais. Com a participação do Prof. Doutor Fernando Veloso
(FEUP) Coordenador da Comissão Nacional.
Da Matemática à Tecnologia II: Optimização da Diversidade e Distribuição de Configurações de Cablagens 21 a 27-11-05
“Da Matemática à Tecnologia” é uma série de 2 sessões que mostram aplicações da matemática à tecnologia,
em particular, à saúde e à indústria, inseridas em projectos com a participação do Departamento de
Matemática. A sessão tem por base a participação num projecto cujo objectivo é o desenvolvimento de uma
estratégia para minimizar a diversidade de configurações nas cablagens para automóveis.
Pigmentos: um encontro entre a Química e a Arte 21 a 27-11-05
O que são pigmentos? Como são preparados? Uma conversa sobre a química dos pigmentos e as
propriedades ópticas de muitos materiais que nos rodeiam. Ao longo dos anos, o Homem tem utilizado
pigmentos para conferir cor a materiais diversos. De facto, estamos rodeados de objectos coloridos, sejam
eles naturais ou fabricados, em muitos dos quais a cor se deve à presença de pigmentos. Desde cedo, o
Homem conjugou em pinturas artísticas a sua vertente estética e a sua capacidade de descobrir e modificar
substâncias. Nesta palestra ficaremos a saber o que são pigmentos e como é que são preparados a nível
laboratorial e industrial. Serão contadas algumas histórias curiosas sobre a aplicação e caracterização química
de pigmentos utilizados em obras de arte. Facilmente se concluirá que a Química tem permitido ampliar os
horizontes ao nível da criação artística, sendo igualmente verdade que a Arte tem sido uma força
impulsionadora da criatividade Química.
A Televisão do Futuro 21 a 27-11-05
Com o desenvolvimento tecnológico, o telespectador é cada vez mais protagonista daquilo que vê. Conhece
algumas potencialidades da televisão do futuro. A caixa com vida, bem conhecida como televisão, entra pelas
nossas casas todos os dias, mas ainda de uma forma passiva. A caixa da futuro pode proporcionar novas
experiências onde o telespectador passa a ter um papel mais activo. Esta actividade mostra o que esperamos
para o futuro da televisão em termos de interacção com o telespectador e que tecnologias servirão de suporte.
142
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Anexo 5: Lista e descrição de actividades da UA
Fábrica da Ciência, 2004 e 2005 Data
DVD – Compilação das reportagens 3810 UA: “Os universitários de palmo e meio”, Anexo 9 2004-2005
Há Micro-Ratos na Fábrica 01-01-2004
Este ano decorreu a 10ª edição do Concurso Micro-Rato, uma competição de robôs móveis e autónomos. Foi
a primeira competição do género em Portugal e pioneira do forte desenvolvimento que a robótica sofreu na
UA. De 14 a 21 de Junho, venha à Fábrica de Ciência Viva, e veja como é que os robôs se desenvencilham
num labirinto, evitam choques com obstáculos, reagem a estímulos externos e jogam futebol!
Fábrica de Modelos 25-11-2004
Exposição destinada à divulgação do projecto Matemática Ensino da Universidade de Aveiro que pretende
criar uma plataforma de Ensino Assistido por Computador, actualmente disponível apenas na Internet e
abrangendo os vários graus de ensino, do Básico ao Superior. Quer conhecer o Projecto Matemática Ensino
(PmatE) da UA bem a fundo e de uma forma completamente inovadora? É muito simples. A partir de Fevereiro
visite a Fábrica de Modelos que estará à sua espera na Fábrica da Ciência Viva. Garantimos-lhe que não se
vai arrepender. A exposição, está patente na Fábrica da Ciência da Universidade de Aveiro, é uma viagem ao
interior do PmatE. Todo o sucesso que este projecto possa ter deve-se à geração de questões objectivas, com
um grau de aleatoriedade enorme e a uma dada solução que lhe foi dada.
Da Fábrica já se vêem estrelas – Ciclo de palestras: Planetas Extra-Solares 14-12-2004
Palestra inserida no Ciclo de Palestras «Dos Planetas ao Big Bang» promovido pela Fábrica de Ciência Viva.
Esta terça, dia 14 de Dezembro, pelas 21h00, Nuno Santos, do Observatório Astronómico de Lisboa, explica
como se pesquisam planetas extra-solares.
Natal com Ciência 18-12-2004
Iniciativa da Fábrica da Ciência Viva dirigida a crianças dos 8 aos 12 anos que inclui jogos de robots da LEGO,
caça aos “Bichos que andam por aí”, cinema 3D e decoração de uma árvore de Natal com ciência.
Projecção a 3 Dimensões 01-01-2005
A Fábrica de Ciência Viva de Aveiro propõe a visualização de filmes a 3 dimensões, sendo o único centro de
ciência em Portugal que apresenta este tipo de actividade. A projecção de filmes 3D estereoscópicos baseia-
se no princípio de sobreposição de imagens projectadas em sincronia absoluta que, após atravessarem um
filtro polarizador específico colocado entre as lentes de projecção e a tela, geram efeitos visuais de
profundidade e proximidade de objectos (estereoscopia tridimensional).
Família Galaró 01-01-2005
O Programa infantil, da RTP2 “A Família Galaró”, cuja estreia se deu no passado dia 17, vai estar em Aveiro,
na Fábrica de Ciência Viva, dia 2 de Fevereiro, para proceder às gravações de mais um programa. Pai Galaró
observa o campo de futebol robótico no Centro de Ciência Viva de Aveiro. A equipa de robots faz uma
demonstração de belo futebol. Então, sugere às crianças: “e se construíssemos juntos um robot com peças de
Lego?” Antes de pôr mãos à obra, um menino ou professor liga um computador portátil, simula um labirinto
virtual e cria um robot que resolve o labirinto (base nos programas já realizados no concurso escolas ciber-
rato). Depois, um pequeno robot aparece e desaparece na sala como se estivesse a brincar com ele. Pai
Galaró segue-o. O pequeno robot pára e o Pai Galaró dá-lhe um pontapé sem querer, mas não o danifica.
Quando o tenta agarrar com força, este evapora-se no ar. Será uma imagem virtual? Por fim, explica às
crianças como se constrói um robot com peças de Lego e como é programado.
Os Bichos que andam por aí 01-01-2005
Exposição para crianças a partir dos 4 anos, com fotografias de João Cosme dos animais que andam
escondidos por aí...... Há animais escondidos por aí... são animais mas são animais mais ou menos
simpáticos que vivem no interior ou periferias das nossas vilas e cidades. Alguns vivem nas nossas casas por
convite nosso, como o cão e o gato. Outros, também lá vivem sem serem convidados, como a aranha ou a
mosca. Muitos outros menos vulgares poderão ser vistos na Fábrica. Sem sobressaltos, a Fábrica de Ciência
Viva de Aveiro propõe, através das imagens captadas pelo fotógrafo da vida selvagem, João Cosme, um jogo
de descoberta, procurando criar condições para conhecer um pouco melhor os animais que vivem perto de
nós, estabelecer com eles uma relação mais calma e amigável porque afinal.... os bichos andam por aí... Uma
maneira divertida de aprender através de imagens a história de bichos contada dentro da carapaça de um
caracol gigante... Por fim, a criança regista um animal à escolha através de um desenho.
Exposição temporária: Os Genes e a Alimentação 01-01-2005
Qual é o elo entre a agricultura da Idade da Pedra e a engenharia genética? É esta a questão central
explorada na exposição «Os Genes e a Alimentação», produzida inicialmente para o Alimentarium, Museu da
Alimentação, em Vevey, Suíça. Laboratório Didáctico associado à Exposição temporária “Os Genes e a
Alimentação” é a experiência que se realiza actualmente no Laboratório é a extracção do ADN do kiwi.
143
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Anexo 5: Lista e descrição de actividades da UA
Fábrica da Ciência, 2004 e 2005 Data
A Cozinha é um Laboratório 01-01-2005
Deste Queijo Não me Esqueço! “A Cozinha é um Laboratório" é um espaço, na Fábrica de Ciência Viva de
Aveiro, onde se pretende explicar de forma divertida e interactiva os processos subjacentes às transformações
químicas e bioquímicas que ocorrem nos alimentos quando preparados. Em Junho, é o Queijo que vai estar
em destaque com a actividade «Deste queijo não me esqueço». A confecção deste alimento, tão apreciado,
baseia-se em três descobertas fundamentais, nomeadamente a obtenção do leite, a influência da temperatura
e o coalho (aquilo que faz com que o leite coalhe). Nesta actividade crianças e adultos poderão aprender que
fazer queijo é uma maneira de aumentar o tempo de vida do leite e de converter esse mesmo queijo num
alimento ainda mais nutritivo, entre muitos outros conhecimentos acerca da sua confecção.
Robótica – Lego Mindstorm e Campo Nacional de Futebol Robótico 01-02-2005
Se preferir actividades experimentais, a nossa sugestão vai para as actividades «LEGO – Centro Mindstorm»,
na qual vai dar voltas à cabeça para criar, programar e testar o seu robot, feito de peças Lego para que este
seja o melhor marcador do campeonato, e «Robots! A ladrar e a fintar…», a iniciativa que lhe apresenta um
simpático robot que abana o rabo quando lhe faz festas, faz “ão, ão!”, reconhece a sua voz, obedece aos seus
pedidos, tira fotografias, toca as suas músicas preferidas e avisa-o dos seus compromissos. Parece um
verdadeiro cão, mas é apenas um robot, um cão da Sony, chamado Aibo, que o vai entreter com a sua
simpatia.
Teatro para Comunicar Ciência 02-02-2005
O objectivo é despertar o gosto pela ciência e tecnologia de uma forma informal, simples e divertida, ajudando,
assim, à construção de laços fortes com o conhecimento. A Fábrica de Ciência Viva, propõe-se agora levar até
à sala de aula as representações produzidas para partilhar a experiência com professores e alunos em
contexto formal de ensino. O teatro é um meio de comunicação por excelência que pode ser utilizado para
transmitir conhecimento. Ao mesmo tempo, a expressão teatral, permite o desenvolvimento das capacidades
criativas e intelectuais e estabelecer um contacto com o conhecimento, muito mais rico e humano. O Projecto
Matemática Ensino (PmatE) do Departamento de Matemática da Universidade de Aveiro e a Fábrica de
Ciência Viva vão deslocar-se, na próxima quarta-feira, dia 2 de Fevereiro, à Escola Básica Integrada da
Pampilhosa da Serra. Duas conferências e uma peça de Teatro fazem parte de um programa que agora se
inicia e que visa divulgar a Universidade e as suas actividades, nomeadamente o PmatE e a Fábrica de
Ciência Viva, junto das escolas do país mais afastadas do litoral. Não se cansando de seguir novas direcções
para despertar o gosto pela matemática, o PmatE arranca agora, em conjunto com a Fábrica de Ciência Viva,
com uma nova iniciativa: levar até às salas de aula das escolas mais afastadas do litoral novos modelos de
aprendizagem, complementado por peças de teatro. A ideia é promover, junto dos alunos, o contacto com
actividades culturais de carácter científico.
Da Fábrica já se vêem estrelas – Ciclo de palestras: Estrelas em foco 03-02-2005
É João Fernandes, do Observatório Astronómico de Coimbra quem vai estar esta Quinta-Feira, dia 3 de
Fevereiro, na Fábrica de Ciência Viva, para falar de estrelas. Sabemos hoje que as estrelas nascem, evoluem
e morrem. Esta perspectiva bem humana do ciclo de vida das estrelas não é mais do que uma imagem. As
escalas de tempo de evolução de uma estrela são astronómicas e impossíveis de seguir directamente pela
observação humana. O Sol, por exemplo, nasceu há 4500 milhões de anos e viverá outro tanto. Estrela há que
não chegam a viver mais do que alguns milhões de anos. Outras estão cá desde que o Universo se formou há
mais de 13000 milhões de anos. Mas como é que sabemos isso? A resposta será dada na próxima palestra
das Noites da Fábrica Ciência Viva
02-03-2005
[Reportagem
Apresentação do Kit Educacional da Estação Espacial Internacional do 3810 UA-
Anexo 9]
Da Fábrica Já Se Vêem Estrelas 03-03-2005
Ciclo de Conferências «Da Fábrica Já Se Vêem Estrelas». Faça uma viagem ao princípio do tempo, descubra
como são os planetas, o que haverá dentro de um buraco negro. Conheça o céu nocturno, as constelações, a
esfera celeste.
“A Morte das Estrelas” por Rosa Doran (CAAUL/NUCLIO). No final do ciclo de vida de uma estrela podemos
encontrar esses objectos incrivelmente simples, os Buracos Negros Estelares. São os objectos mais simples
do Universo. Não emitem luz, e no entanto são responsáveis pelos fenómenos mais enérgicos que
conhecemos. Nesta palestra será apresentada uma breve perspectiva histórica, uma perspectiva moderna e
serão apresentadas ainda as últimas descobertas e técnicas de detecção. A conferência é seguida da
observação do céu de Março.
144
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Anexo 5: Lista e descrição de actividades da UA
Fábrica da Ciência, 2004 e 2005 Data
Ciclo Poesia com Ciência 07-03-2005
João Grosso e Natália Luíza vão provar, hoje, a partir das 21h30, na Fábrica de Ciência Viva que, embora
ligadas a domínios diferentes de conhecimento e valor, Ciência e Poesia pertencem a uma mesma busca
humana. A visão poética emana da intuição criativa, da experiência humana singular e do conhecimento do
poeta. A Ciência gira em torno do concreto, da construção de projectos comuns, de experiências
compartilhadas e da construção do conhecimento colectivo sobre o mundo que nos rodeia. A Ciência, ao
contrário da Poesia, deve representar adequadamente o comportamento material. No entanto, a proximidade
entre Ciência e Poesia revela-se muito rica, se a olharmos à luz de um mesmo sentimento do mundo. Para
ilustrarmos este discurso, teremos entre nós os actores João Grosso e Natália Luíza, que nos declamarão
poemas de vários autores (Camões, Manuel Bandeira, Jorge de Sena, Carlos Drummond de Andrade, Murilo
Mendes, Gilberto Gil, e muitos outros) que falam do mundo, das coisas concretas e da Ciência.
Um Dia com Júlio Verne (1828-1905) 24-03-2005
O dia 24 de Março é assinalado pelo centenário da morte de Júlio Verne. A Fábrica de Ciência Viva e a UA
associam-se a esta comemoração realizando «Um dia com Júlio Verne», um conjunto de conferências,
debates e mesas redondas abertas ao público. Centenário da morte de Júlio Verne assinalado em grandeA
UA e a Fábrica de Ciência Viva vão promover hoje, 24 de Março, entre as 11h00 e as 18h00, um conjunto de
conferências, debates e mesas redondas. Um dia 100% dedicado às comemorações do centenário da morte
de Júlio Verne para o qual todos os interessados estão desde já convidados.
Da Fábrica já se vêem estrelas – Ciclo de palestras:Via Láctea 07-04-2005
Da Fábrica já se vêem estrelas – Ciclo de palestras “dos planetas ao big bang”. A palestra deste mês,
agendada para 7 de Abril, às 21h00, na Fábrica de Ciência Viva, vai estar a cargo de André Moitinho, do
Centro de Astronomia e Astrofísica da Universidade de Lisboa (CAAUL).
“Via Láctea” por Catarina Lobo, do Centro de Astrofísica do Porto, vai levar-nos numa longa viagem através do
Universo das galáxias. Veremos que as galáxias não são todas iguais, que tanto vivem isoladas como em
grupos, que interactuam umas com as outras. Falaremos da sua origem e da forma como evoluem. No final da
palestra haverá uma pequena apresentação sobre o céu de Abril por José Matos. As próximas palestras
agendadas no âmbito deste Ciclo, terão lugar a 5 de Maio e a 2 de Junho.
Teatro para Comunicar Ciência:O Homem que via passar as estrelas 24-04-2005
Um espectáculo onde pode ficar a conhecer «O Homem que via passar as estrelas». Uma história de Planetas
que se queixam ao sol e de um Azul tirano que quer impor a sua cor ao mundo. Uma discussão saudável
sobre os benefícios das diferenças, onde fica implícita a ideia de diversidade e pluralidade no mundo em que
vivemos. Nesta história vemos os Planetas do nosso sistema solar cheios de personalidades vincadas e
conflituosas, interpretadas por professores reais que vestem a capa de professores actores.
Fotógrafos da Vida Selvagem 2005 01-05-2005
A Fábrica de Ciência Viva vai receber a exposição organizada pelo Museu de História Natural de Londres e
pela revista BBC. "Fotógrafos da Vida Selvagem 2005" reúne anualmente as melhores fotografias da Vida
Selvagem seleccionadas entre mais de 18.500 fotografias levadas a concurso, provenientes de 50 países.
Uma colecção que contém uma grande variedade de objectos e estilos, desde retratos, exposições de
comportamento animal ou paisagens até imagens abstractas.
Da Fábrica já se vêem estrelas – Ciclo de palestras: As Outras Galáxias 05-05-2005
Conferência «As Outras Galáxias». Este mês é «As Outras Galáxias» que vai estar em foco na palestra
agendada para 5 de Maio, às 21h00, na Fábrica de Ciência Viva, no âmbito da iniciativa Da Fábrica Já se
vêem Estrelas, Ciclo de Palestras «Dos Planetas ao Big Bang». Catarina Lobo, do Centro de Astrofísica da
Universidade do Porto, é a palestrante convidada para falar sobre o tema. Cerca de quinze mil milhões de
anos-luz separam a Via Láctea – a galáxia que alberga o nosso Sol e da qual fazemos parte – dos "confins" do
Universo, de onde nos chega a radiação cósmica de fundo, autêntica marca arqueológica que indica os
primórdios do nosso Universo.
Espectáculo Coral na Fábrica de Ciência Viva 25-05-2005
A Fábrica de Ciência Viva abre hoje, dia 25 de Maio, pelas 21h30, as portas da Exposição «Os Genes e a
Alimentação» ao Orfeão Universitário de Aveiro (OUA) e ao coro Misto da Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro (UTAD). O repertório consiste em música coral não sacra. O espaço expositivo dá lugar ao
espectáculo apresentado num contexto do quotidiano como uma visita a uma exposição. O início desta visita
está marcado para as 21h30, hora em que os visitantes começam a ver a exposição. O espectáculo musical
começará um pouco mais tarde mas sem hora (nem local) exacto. O som acompanhará os visitantes e os
visitantes acompanharão estes cantores que terminarão o espectáculo na última sala da exposição. O Maestro
do Orfeão Universitário de Aveiro é Artur Pinho, e do coro misto da Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro é Rui Paulo Teixeira.
145
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Anexo 5: Lista e descrição de actividades da UA
Fábrica da Ciência, 2004 e 2005 Data
Conferências «A Natureza na Fábrica» e Saídas de Campo 01-06-2005
Durante o mês de Junho, a Fábrica de Ciência Viva vai organizar duas conferências e duas visitas de campo
sobre a temática da exposição «Fotógrafos da Vida Selvagem». Hoje, 1 de Junho, às 18h00, realiza-se a
primeira conferência. O tema «Implementação da Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da
Biodiversidade» será abordado pela Dra. Maria de Lurdes Serpa Carvalho. Durante o mês de Junho, a Fábrica
de Ciência Viva vai organizar duas conferências e duas visitas de campo sobre a temática da exposição
«Fotógrafos da Vida Selvagem», com a colaboração do Departamento de Biologia da UA. A última saída de
campo está agendada para o dia 18 de Junho, a cargo do Dr. António Luís, e vai centrar-se nas Aves, os
Homens e a Ria. As saídas de campo realizam-se nos dias 11 e 18 de Junho. A primeira será conduzida pela
Dra. Rosa Pinho e levará os participantes a conhecer, entre as 09h30 e as 16h00, a Biodiversidade Florística
do Baixo Vouga Lagunar. A segunda estará a cargo do Dr. António Luís e vai centrar-se nas Aves, os Homens
e a Ria.
Da Fábrica já se vêem estrelas – Ciclo de palestras: As Origens do Universo 02-06-2005
Ciclo de Conferências sobre astronomia termina a 2 de Junho. No dia 2 de Junho, termina o ciclo de
conferências sobre astronomia “da Fábrica já se vêem estrelas” promovidas, desde Novembro, pela Fábrica
de Ciência Viva em estreita colaboração com o Núcleo Interactivo de Astronomia com o (NUCLIO). Às 21h00,
Domingos Barbosa (CENTRA/IST) vai falar sobre as origens do nosso Universo.
Ciclo Poesia com Ciência 06-06-2005
Cláudia Stattmiller e Manuel Dias da Silva na Fábrica de Ciência Viva. Poesia com Ciência é um Ciclo de
Poesia levado a cabo todas as primeiras segundas-feiras de cada mês, pelas 21h30, na Fábrica de Ciência
Viva. Cláudia Stattmiller e Manuel Dias da Silva são os convidados desta segunda-feira, dia 6 de Junho, para
além dos intervenientes seleccionados em audição realizada a 28 de Fevereiro. Baseados no livro “Rosa do
Mundo”, teremos leitura de poemas de todo o Mundo. A temática vai assentar sobre a origem do “mito” da
criação do Universo, das pessoas, das coisas, de tudo o que nos rodeia… Passando por Portugal, teremos
poemas de António Gedeão, Murilo Mendes, e depois daremos a volta ao Mundo, desde a China, Índia, até ao
México, entre muitos outros países que circundam o nosso Planeta.
Conferências «A Natureza na Fábrica» e Saídas de Campo 09-07-2005
Saída de Campo «A Biodiversidade florística do Baixo Vouga Lagunar». A Fábrica leva a cabo, no próximo dia
9 de Julho, mais uma saída de campo dedicada à «Biodiversidade Florística do Baixo Vouga Lagunar»,
orientada pela Dra. Rosa Pinho, do Departamento de Biologia da UA. A partida está marcada para as 9h00, na
Fábrica de Ciência Viva.
Ciclo Poesia com Ciência: Os Quatro Elementos 07-11-2005
Actriz Maria do Céu Guerra na Fábrica – Centro de Ciência Viva de Aveiro. A Fundação João Jacinto de
Magalhães vai promover um Ciclo de Poesia intitulado «Os Quatro Elementos». A primeira Sessão terá a
presença da actriz Maria do Céu Guerra e decorrerá no dia 7 de Novembro, pelas 21h30, na Fábrica Centro
Ciência Viva.
Momento de gosto científico 24-11-2005
Concerto para a popularização da ciência. A Fundação João Jacinto de Magalhães organiza, dia 24 de
Novembro, às 21h30, na Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro, um concerto de música coral, onde, entre
outras, serão apresentadas um conjunto de peças encomendadas especificamente para este concerto.
Inserido no programa da Semana da Ciência e Tecnologia da UA (21 a 27 de Novembro), o concerto é de
entrada gratuita. Chamaram-lhe os autores Orfeão Universitário de Aveiro e o Coro Misto da Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro, Momento de gosto científico.
Beyond Einstein - 12 horas entre físicos 01-12-2005
O Departamento de Física da UA e a Fábrica – Centro de Ciência Viva de Aveiro organizam um dia dedicado
à Física. Em dia de feriado nacional (1 de Dezembro) entre as 12h00 e as 24h00, a Fábrica vai estar em
contacto com o CERN e oferecerá experiências, debates e muito mais.
Ciclo Poesia com Ciência: Os Quatro Elementos 05-12-2005
Ciclo de poesia «Os quatro elementos» com Manuel Portela. O Departamento de Física da UA e a Fábrica –
Centro de Ciência Viva de Aveiro organizam um dia dedicado à Física. Em dia de feriado nacional (1 de
Dezembro) entre as 12h00 e as 24h00, a Fábrica vai estar em contacto com o CERN e oferecerá experiências,
debates e muito mais.
146
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Anexo 6: Lista e descrição de actividades da UA
Outras actividades, 2004 e 2005 Data
Espectáculo de Teatro Musical "Andakibebé" 7-2-2004
Workshop para adultos e para crianças. Inserido na programação do Festival Internacional de Música de
Aveiro, BebéBabá é uma produção, da Companhia de Música Teatral, dirigida a crianças acompanhados por
adultos. Bebébabá engloba um conjunto de workshops para bebés com idade inferior a 24 meses
acompanhados pelos seus Pais (ou avós, irmãos ou outros educadores), e um espectáculo final, dedicado a
estes bebés, e em cuja criação e interpretação os adultos acompanhantes do bebé participam também.
Projecto de Teatro Musical em Aveiro o Navio dos Rebeldes 27-3-2004
Musical “O Navio dos Rebeldes” comemora o Dia Mundial do Teatro com um Ensaio Aberto.Potenciando os
valores regionais, nomeadamente os músicos e cantores que estudam e actuam em Aveiro e na sua região,
“O Navio” irá à cena em Maio deste ano, mostrando a enorme riqueza e criatividade que existe neste distrito e
nesta região que tem a maior percentagem de músicos e de bandas filarmónicas a nível nacional.O trabalho
desenvolvido pela equipa que está a produzir “O Navio”, projecto de Teatro Musical co-produzido pelo Teatro
da Trindade/INATEL, pelo Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro e pela Efémero –
Companhia de Teatro de Aveiro, vai ter a sua primeira apresentação pública, no próximo dia 27 de Março, Dia
Mundial do Teatro pelas 11h00, com a realização de um ensaio aberto no Auditório do Departamento de
Comunicação e Arte da UA.. Partindo da revolta e da memória, o navio musical que está a ser produzido em
Aveiro, para além de ser a primeira realização do Projecto de Teatro Musical que começa a ganhar forma
nesta região, quer ser um espaço musical de reflexão e revelação do que são hoje os desejos e as
preocupações destes jovens que são já hoje os protagonistas deste mundo em mudança, deste mundo em
viagem para um tempo que se quer melhor e mais solidário.
Olimpíadas de Química Júnior 09-04-2005
Depois da experiência bem sucedida em 2004 na Universidade de Aveiro, as Olimpíadas de Química para o
ensino básico – designadas «Olimpíadas de Química Júnior» - vão este ano realizar-se a nível nacional. A
Sociedade Portuguesa de Química (SPQ), entidade promotora das «Olimpíadas de Química», obteve a
garantia de participação de 10 Departamentos de Química de universidades portuguesas, entre as quais se Reportagem
conta, naturalmente, a Universidade de Aveiro. E a resposta dos professores e alunos do ensino básico do 3810 UA
superou as expectativas, tendo sido registada a inscrição de mais de 100 Escolas. Dos cerca de 900 alunos Anexo 9
participantes nas «Olimpíadas Júnior» em todo o país, a Universidade de Aveiro vai acolher 180, vindos de 24
Escolas Básicas da região centro. Assim, no próximo dia 9 de Abril, os alunos seleccionados para representar
as suas escolas vão animar o campus da UA, competindo pelas medalhas olímpicas.
UA recebe Olimpíadas Nacionais da Astronomia 20-04-2005
No próximo dia 20 de Abril, a partir das 14h00, a UA recebe a eliminatória regional das 1ªs Olimpíadas
Nacionais da Astronomia. Os participantes foram seleccionados a partir da 1ª eliminatória realizada, em
Março, nas escolas do distrito de Aveiro. As 1ªs Olimpíadas Nacionais de Astronomia são um concurso de
âmbito nacional, promovido e organizado pela Sociedade Portuguesa de Astronomia, dirigido a estudantes do
Ensino Secundário, com o objectivo de incentivar o interesse pela Astronomia, enriquecer os conhecimentos
sobre esta área, promover o contacto com a realidade da Astronomia em Portugal e estimular o pensamento
científico. Estas Olimpíadas decorrem em três eliminatórias: a local, realizada nas escolas, a regional, em
instituições de todo o país com ligação à astronomia, e a final nacional, no Centro Ciência Viva do Algarve, em
Faro. Depois da realização da primeira, em Março, tem lugar, no próximo dia 20 de Abril, a eliminatória
regional, nas diversas instituições do país com ligação à Astronomia, entre as quais, a Universidade de Aveiro.
26-4 e 1-10
Concerto Bach2Cage 6.3
2004
Concerto inserido nas Comemorações do Dia Internacional da Música levadas a cabo pela Universidade de
Aveiro, com o alto patrocínio da UNESCO. bach2cage é um espectáculo de música cénica em que se explora
a herança musical de J.S.Bach e John Cage, numa viagem através da universalidade e da pluralidade da
música e das cumplicidades que a música pode encontrar noutras artes. O espectáculo é uma sucessão
contínua de quadros musicais/teatrais/visuais que evoluem sem uma narrativa lógica e que transportam os
espectadores a um conjunto amplo de ambientes, emoções, humores ou sensações. Com uma linguagem
musical muito abrangente, bach2cage é uma leitura “actual”, descomplexada, bem-humorada, por vezes
irreverente, da música de Cage e Bach.
«Concerto para Einstein» 3-5-2005
O Concerto para Einstein destina-se a estudantes maiores de 6. O Elogio da Invenção-Este será um concerto
baseado em peças musicais concebidas "sob inspiração científica". Um concerto bem disposto inspirado na
vida de Albert Einstein, no seu tempo e na sua obra. Um desafio aos compositores para tentarmos criar
verdadeira música científica e inventarmos uma nova corrente musical jovem, experimental, divertida e
arrojada. A entrada é livre!Concerto inserido no Ciclo de teatro para crianças sobre Matemática que o
Departamento de Matemática (Projecto Matemática Ensino) promove nos meses de Abril e Maio. Um dos três
apontamentos teatrais apresentados pelo Teatro da Trindade para o Projecto Matemática .
147
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Anexo 6: Lista e descrição de actividades da UA
Outras actividades, 2004 e 2005 Data
Final das Olimpíadas de Química 2005 na UA 07-05-2005
A prova final das Olimpíadas de Química realiza-se nas instalações do Departamento de Química e nos
laboratórios do Complexo Pedagógico. Os 27 alunos finalistas, apurados nas semifinais de Lisboa, Porto e
Aveiro, vão realizar um teste teórico (de manhã) e um trabalho prático laboratorial (à tarde). Além de apurar os
vencedores absolutos de 2005, esta prova permite seleccionar a equipa portuguesa para as competições
internacionais.
Mini Feira do Livro Infantil no CIAQ 07-05-2004
Por vezes os livros são a nossa melhor companhia... Por isso os meninos e meninas do CIAQ - Centro de
Infância Arte e Qualidade (sala dos 4 anos) convidam todos os leitores à visita da Feira do Livro que
organizaram.
Semana da Prática Pedagógica 24 a 28-05-04
Organizada pelas Licenciatura em Educação de Infância, Licenciatura em Ensino Básico - 1º Ciclo e
Reportagem
Licenciaturas em Ensino de Ciências, Línguas e MúsicaXIV Mostra de Fotografia Pedagógica - Exposição de
do 3810 UA
posters e trabalhos realizados pelos estagiários e alunos das escolas - Conferências e Sessões de
Anexo 9
Comunicações Orais - Oficinas (Re) Criar a Cidade (abertas a crianças da comunidade educativa)
Dia Aberto da UA - Iniciativa Anual 28-05-2004
Continuando uma tradição de quase três décadas, a Universidade de Aveiro abre as suas portas, este ano, no
dia 28 de Maio, para acolher todas as pessoas que visitam o Campus, nesse dia. Pretende-se, com este Dia
Aberto, dar a conhecer as diversas actividades científicas, pedagógicas e culturais desenvolvidas na
Universidade, a todos aqueles que, pertencendo ou não à Academia de Aveiro, desejam conhecer melhor e
contactar de perto com alunos, docentes, investigadores e funcionários dos Departamentos, Escolas, Centros
e Serviços desta Universidade. Os alunos do Ensino Secundário serão sem dúvida os principais convidados,
mas muitas outras iniciativas de interesse, dirigidas a públicos diversos, poderão ser identificadas no programa
proposto pelos Departamentos, Escolas, Unidades, Centros e Serviços da Universidade. O programa está
disponível no endereço http://event.ua.pt/diaberto/
Forum da Cidadania Activa | Projecto Direitos Humanos em Acção IV – 2004 28-05-2004
Conjunto de actividades lúdicas como um Labirinto, O Jogo na Glória dos Direitos Humanos, jogos, diversões Reportagem
e sempre com a defesa dos Direitos Humanos em pano de fundo. do 3810 UA
Anexo 9
Dia Mundial da Música 1-10-2004
Respondendo ao repto lançado pela Comissão Nacional da UNESCO, a UA e o seu Centro Integrado de
Formação de Professores (CIFOP) associam-se às comemorações do Dia Mundial da Música.Indo de
encontro às responsabilidades de formação e dos seus contextos, no gosto e desenvolvimento de literacia
musical, que se procuram hoje desenvolver cada vez mais nas crianças e jovens, a proposta apresentada para
este ano pela UA inclui um conjunto de iniciativas bastante diversificado.Apresenta-se, assim, um programa
susceptível de cumprir objectivos de motivação e desenvolvimento do mencionado gosto e incremento de
métodos de ouvir e ver executantes que, através dos autores das obras que serão mostradas ao público,
contribuem, certamente, para uma celebração com qualidade do Dia Mundial da Música.Dirigido às crianças, o
Colégio Liceal de Santa Maria Lamas apresenta o Comboio da Música. Com paragem agendada em oito
instituições, esta iniciativa conta com o talento de alunos do 5º ao 9º anos do estabelecimento de ensino, que
apresentarão um breve mas diversificado repertório, utilizando vários instrumentos musicais.Importa salientar
que o CIFOP-UA é a 1ª Escola associada do Sistema de Escolas Associadas da UNESCO e tem assento no
Conselho Consultivo da Comissão Nacional dessa Instituição.
IX Semana da Geologia 24 a 28-11-04
Uma feira de minerais, fósseis e rochas, várias exposições, um ciclo de conferências, a apresentação do livro
«Areia da Praia da Ilha de Porto Santo» e saídas de campo às serras do Caramulo e da Freita são algumas
das actividades da IX Semana da Geologia. Esta iniciativa, inserida na Semana Aberta da Ciência e
Tecnologia da UA, tem por objectivo cativar e incentivar os alunos das escolas secundárias - futuros
candidatos ao ensino superior - para uma área tão importante mas ainda tão pouco divulgada como é a da
Geociências.
O Homem que via passar estrelas (a decorrer até 28 de Fevereiro) 28-2-2005
Destinada a crianças a partir dos 8 anos, esta história mostra os planetas do nosso sistema solar cheios de
personalidades vincadas e conflituosas.Esta é uma história de planetas que se queixam ao sol e de um azul
tirano que quer impor a sua cor ao mundo. Um espectáculo onde fica implícita a ideia de diversidade e
pluralidade no mundo em que vivemos.
148
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Anexo 6: Lista e descrição de actividades da UA
Outras actividades, 2004 e 2005 Data
Peça de Teatro «Hipotnozes» 20-4-2005
Peça de Teatro inserida no Ciclo de teatro para crianças sobre Matemática que o Departamento de
Matemática (Projecto Matemática Ensino)Hipotnozes destina-se a estudantes do 3.º ciclo do ensino básico e
ensino secundário e realiza-se entre os dias 11 e 15 de Abril.Apanhados numa cilada da LIMA (Liga dos
Inimigos da Matemática e Afins), o Calculo Mental, a Anabiribana e a Gertrudes deparam-se com um novo
desafio: salvar o mundo da matemática. Mas como? Numa luta contra o tempo: seguem-se pistas,
desenvolvem-se raciocínios até chegar à solução. E como se não bastasse tudo isto, Cálculo Mental enfrenta
ainda outro contratempo: as discussões entre Gertrudes e Anabiribana que com emoção disputam a atenção
do «génio matemático
11-04 a 26-05-
Ciclo de Teatro para crianças sob o tema da Matemática.
2005
A Universidade de Aveiro, através do Projecto Matemática Ensino, promove, mais uma vez, nos meses de
Abril e Maio, um ciclo de Teatro para crianças sob o tema da Matemática. «Hipotnozes», «Da Vince» e
«Concerto de Einstein» são os apontamentos teatrais que integram este ciclo; três espectáculos infanto-
juvenis, apresentados e produzidos pelo Teatro da Trindade – Inatel, através dos quais se pretende provar que
é possível aprender Matemática a brincar, a sorrir e até mesmo a cantar.Hoje é fundamental a compreensão
do diálogo entre a arte e a ciência para a construção de um novo conhecimento e para a criação de uma forma
de pensar capaz de responder à complexidade de questões que atravessam esta passagem do século. Os
pressupostos que presidem à capacidade de formular e desenvolver novas respostas, tanto no campo da arte
como na ciência, são basicamente os mesmos: uma curiosidade desperta, um grande sentido de observação
e de compreensão do mundo, uma enorme capacidade de reconstruir a realidade e de a recombinar para dar
origem a novas realidades.
Peça de Teatro «Da Vinci» 26-5-2005
Da Vinci destina-se a estudantes maiores de 6 anos.Peça de Teatro inserida no Ciclo de teatro para crianças
sobre Matemática que o Departamento de Matemática (Projecto Matemática Ensino) promove nos meses de
Abril e Maio. A cidade de Eureka está em perigo. Tecnécia usurpou o trono à princesa Larissa, tornando-a
sua escrava. Sempre preocupada com a sua beleza, a nova rainha está prestes a arrancar a imaginação de
todos os inventores que não satisfaçam os seus pedidos e que, por isso, não a tornem mais bela. E eis que
surge Leonardo Da Vinci que, revelando a sua faceta de inventor, e com a ajuda da princesa, tenta salvar o
reino. Resta saber se o grande génio, detentor de múltiplos atributos, conseguirá salvar Eureka do poder da
ambiciosa rainha.
«Ciência Viva no Verão» 2005 dá a conhecer a Ciência portuguesa 30-08-2005
Está a decorrer a edição de 2005 da iniciativa «Ciência Viva no Verão». Observações astronómicas, passeios
científicos, visitas a faróis e a grandes obras de engenharia, tudo com acesso gratuito, são os pontos fortes
desta proposta. Conheça os eventos que pode acompanhar em Setembro e Outubro, com coordenação da
Ciência Viva e participação da Universidade de Aveiro.
15-10 a 10-11-
Espectáculo Fungágá está de regresso a Aveiro
2005
Trata-se de uma história com muita diversão, alegria, imaginação e cor com as músicas de José Barata Reportagem
Moura. Numa co-produção entre a Efémero – Companhia de Teatro de Aveiro, Teatro da Trindade-Inatel e do 3810 UA
Departamento de Comunicação e Arte da UA, o espectáculo “Fungágá” regressa a Aveiro.Depois do enorme Anexo 9
sucesso da primeira série de apresentações, com a sala do Estaleiro Teatral praticamente esgotada,
regressam as aventuras de uma família de artistas ambulantes que conseguiram cativar a atenção de todos.
149
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
150
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Anexo 7: Resumo histórico da iniciativa PmatE
1990 - 2001 Data
Primeira prova na história do programa. Prova essa que apesar de ainda não se intitular
EQUAmat, foi a prova que lhe deu origem. Tratava-se de exercícios relacionados com 1990
as equações de 1º grau e os alunos que nela participaram estudavam na Escola 1ª Edição
Secundária Nº1 de Aveiro.
A final ocorreu no dia 24/5 (Dia Aberto da U.A.) e contou com a presença de 180 alunos 1991
do 7º ano da Escola Secundária Nº1 de Aveiro. 2ª Edição
A final da prova EQUAmat ocorreu nos dias 27, 28 e 29 de Abril e nela participaram 77 1992
alunos. 3ª Edição
Prova aberta a todas as escolas do Distrito de Aveiro. A final ocorreu no dia 21 de Maio 1993
(Dia Aberto da U.A.) e nela participaram 81 alunos. 4ª Edição
A final da prova EQUAmat ocorreu a 2 de Junho e pela primeira vez foram convidadas
1995
a participar as escolas dos distritos do Porto, Viseu, Coimbra e Figueira-da-Foz. [1ª 5ª Edição
versão do EQUAmat em Windows]
[sem informações] 1996
6ª Edição
O programa passa institucionalmente a pertencer ao Departamento de Matemática e a
final conta com o apoio deste Departamento, da Reitoria e do Projecto de Ciência Viva
1997
(Ministério da Ciência e Tecnologia). A final ocorreu no Dia Aberto da U.A. e contou 7ª Edição
com a presença de 10 equipas (20 alunos) da Escola Secundária da Murtosa e 15
equipas (44 alunos) da Escola Secundária da Branca.
A prova passou a incluir alunos do 8º e 9º ano e a final, EQUAmat98, ocorreu no Dia
Aberto da U.A. Nela participaram 83 alunos da Escola Secundárias da Gafanha da 1998
Nazaré (10 alunos), da Branca (14 alunos), da Murtosa (6 alunos), de São Bernardo (36 8ª Edição
alunos) e de Arouca (17 alunos).
Na final da prova EQUAmat participaram 260 alunos (113 equipas), 174 alunos do 8º e
52 alunos do 9º Ano. Os alunos provinham de 102 escolas dos distritos do Porto, 1999
Aveiro, Castelo de Paiva, Coimbra, Vila Real de Trás-os-Montes, Viseu, Castelo 9ª Edição
Branca, Leiria, Santarém, Setúbal e Beja.
Na final da prova EQUAmat realizada a 10 de Maio de 2000 participaram 2000 alunos
2000
de 78 escolas dos Distritos do Porto, Covilhã, Guarda, Aveiro, Coimbra, Castelo Branco 10ª Edição
e Leiria.
Na final da prova EQUAmat participaram 102 escolas dos Distritos do Porto, Castelo de
.2001
Paiva, Aveiro, Vila Real de Trás-os-Montes, Viseu, Coimbra, Castelo Branca, Leiria, 11ªEdição
Santarém, Setúbal e Beja
151
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Anexo 8: DVD – V Semana Aberta da Ciência e Tecnologia, reportagem 3810 UA
Inauguração da V semana Aberta da Ciência e Tecnologia
A energia dos resíduos
O espectáculo da física
O cantinho da pequenada
Observação solar
A Terra que pisamos
O meu colar de flores
Química em acção
Portas abertas no DEM
Construção de Legos
Lançamento de micro-foguetes
Visita à estação meteorological
Fazer chover
Holografia
Ciber-competições robóticas
Plani-paper
Avaliação do stress químico em eco-sistemas
Conhecer os metais e outros materiais
Visita ao herbário da UA
Montra robótica
Tele-ciência / Festival de filme científico
Os bichos que andam por aí – o caracol
Homeoestética 6=0 – Dramatização
Teatro – Revolução dos corpos celestes
Gomo em concerto
152
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Anexo 8: DVD – V Semana Aberta da Ciência e Tecnologia,
reportagem 3810 UA
153
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Anexo 9: DVD – Compilação das reportagens 3810 UA: “Os universitários de palmo e meio”
PmatE
PmatE 2004
Mat12
EQUAmat, EQUAmat em rede
Prática Pedagógica
Semana da Prática Pedagógica
Forum da cidadania
Recriar a cidade
Kits didácticos
Fábrica da Ciência
Robótica da LEGO
Kit educacional
Comunicação e Arte
Fungágá
Música na escola
Teatro na Pampilhosa da Serra
Outras Actividades
Olimpíadas da Química Junior
Processo de Bolonha
154
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Anexo 9: DVD – Compilação das reportagens 3810 UA:
“Os universitários de palmo e meio”
155
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
156
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Referências
157
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
158
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Amorim, I. (2001), História da Universidade de Aveiro, A construção da memória: 1973-2000, Universidade de
Aveiro e Fundação João Jacinto Magalhães, 216 p.
Barnett-Morris, D. e Kleiber, L. (s/d), The state of children’s play, Academy of Leisure Sciences
http://www.academyofleisuresciences.org/alswp6.html, [2006].
Baudrillard, J. (1995), A sociedade de consumo, Edições 70, Lisboa, 213 p.
Bodger, D.H.; Bodger, P.M.; Frost, H. (2005), Educational Travel – where does it lead?, pp. 1-8,
http://www.nottingham.ac.uk/ttri/pdf/conference/David%20Bodger.pdf, [2006].
Brazelton, T.; Greenspan, S. (2000), A criança e o seu mundo, Editorial Presença, Lisboa, 2002.
Cabrini, L. (2005), To reinvent Tourism, To affirm Portugal, WTO, 2nd Congress of Tourism, Estoril. 33 p.
Canadian Tourism Commission (2001), Learning Travel, “Canadian ed-ventures” learning vacations in Canada:
an overview, Vol. 1, Canadian Tourism Commission, Ontario.
Carneiro, M.J.; Malta, P.A. (1997), Going Mobile: demand for international education and higher education
student’s tourism market, Conferência Recent Developments in Tourism Research, Faculdade de Economia,
Universidade do Algarve, Faro, 2005.
Casas, F. (2000), As culturas da criança e a comunicação audiovisual, Actas do Congresso Internacional sobre
os Mundos sociais e culturais da infância, Vol. 2, CESC e IEC da Universidade do Minho, Braga, pp. 19-29.
Child Development Institute, Stages of Social-Emotional Development in Children and Teenagers
http://www.childdevelopmentinfo.com/development/erickson.shtml, [2006].
Clarke, B. (2005), Children’s Trends in Europe, Young Consumers: Vol.6 (29), World Advertising Research Center.
http://www.warc.com, [2005].
Costa, C. (1996), Towards the Improvement of the Efficiency and Effectiveness of Tourism Planning and Development at the
Regional Level: Planning and Networks. The Case of Portugal, Unpublished PhD Thesis, University of Surrey, Guildford. pp. 1-22.
Cunha, L. (1997), Economia e Política do Turismo, McGraw-Hill de Portugal, Amadora, 350 p.
Cubberley, E. P. (1920), The History of education, Stanford University Press, Guttenberg Ebook Publication 2005, 493 p.
http://manybooks.net/ [2006].
Delgado, A. C. C. (2003), Infâncias e crianças: O que nós adultos sabemos sobre elas?, Institudo de Estudos da
Criança, Universidade do Minho, Braga, 9 p.
http://old.iec.uminho.pt/cedic/textostrabalho/infancias&crianças.pdf, [2005].
Dias, R. (2003), Sociologia do Turismo, Editora Atlas, São Paulo, 251 p.
Dicionário de Psicologia, Colecção Psicologia Moderna, Edições Verbo, Lisboa.
159
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Dumazedier, J. (1974), Sociologia empírica do lazer, Editora Perspectiva, SESC, Colecção Debates, N.164, São
Paulo, 2004, 244 p.
Eco, U. (1980), O nome da rosa, DIFEL, Difusão Editorial Lda, Lisboa, 500 p.
Edington, C. R. et al. (1992), Leisure programming, concepts, trends and professional practice,
Brown&Benchmark, Dubuque, Iowa, pp. 2-21.
Elisseeff, V. (1998, 2000), The Silk Roads. Highways of Culture and Commerce, Berghahn Books, New York &
Oxford and UNESCO Publishing, Paris, 2000.
Erik Eriksson Institute, Why Eriksson?
http://www.erikson.edu/erikson.asp?file=eriksonbio, [2006].
Ferreira, M. (2004), «A gente gosta é de brincar com os outros meninos!», Biblioteca das Ciências
Sociais/Ciências da Educação/19, Edições Afrontamento, Porto, 437 p.
Gambra, R. (1968), Pequena História da Filosofia, Imprensa Portuguesa, 424 p.
Glover, I. C. (1998, 2000), The Southern Silk Road. Archaeological Evidence of Early Trade between India and
Southeast Asia, Berghahn Books, New York & Oxford and UNESCO Publishing, Paris, 2000, pp. 93-121.
Grand Tour, Flager Museum education project and Michigan University, Palm Beach, Florida.
http:// www.grand-tour.org/ [2006].
Hannam, J. (2003), Medieval Science, the Church and Universities, Bedes Library
http://www.bede.org.uk/Medieval Science and the Church.htm [2006].
Henriques, C. (2003), Turismo Cidade e Cultura, Planeamento e Gestão Sustentável, Edições Sílabo, Lisboa, 307 p.
Holloway, S.L.; Valentine, G. (2000), Children’s Geographies – playing, living and learning, Routledge, Taylor &
Francis Group, London, 275 p.
Hovenlynck, J. (2001), Beyond didactics: A reconnaissance of experential learning, Australian Journal of Outdoor
Education, Vol. 6 (1), 2001, pp. 4-14.
http://www.wilderdom.com/ajoe/samplearticles.html, [2006].
Iso-Ahola, (1982), The social psychology of leisure and recreation, WCB, Dubuque, Iowa, pp. 379-394.
Kelly, J.R. (1996), Leisure, Allyn & Bacon, Boston, pp. 3-84, 119-199, 414-430.
Lynch, J. P. (trad.1995), As origens da Educação Superior em Atenas, UNL, Pombo, 46 p.
http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/hfe/cadernos/grecia/patrick.pdf, [2006].
Maslow, A.H. (1943), A Theory of Human Motivation, Originally Published in Psychological Review, N. 50, pp. 370-396.
http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm, [2006].
160
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Matthews, H.; Limb, M. (1999), Defining an agenda for the geography of children: review and prospects, Progress
in Human Geography, Centre for Children and Youth, University College Northampton, Vol. 23 (1), pp. 61-90.
Mokhtarian, et al. (2004), A taxonomy of Leisure Activities: the Roles of ICT, University of Califórnia, Davis, 34 p.
http://www.its.ucdavis.edu/publications/2004/UCD-ITS-RR-04-44.pdf, [2006].
Nespor, J. (2000), School field trips and the curriculum of public spaces, Journal of curriculum studies, Vol.32 (1), pp. 25 – 43.
Nordin, S. (2005), Tourism of Tomorrow, -Travel Trends & Forces of Change, ETOUR
European Tourism Research Institute, Mid-Sweden University, Östersund, 99 p.
Nóvoa, A. (2003), Cúmplices ou reféns?, Revista Com a palavra, Nº162, Maio de 2003
http://novaescola.abril.uol.com.br/index.htm?ed/162_mai03/html/com_palavra, [2006].
OMT (1995), Concepts, definitions and classifications for tourism statistics, Madrid, Spain
Packer, J.; Ballantyne, R. (2004), Is Educational leisure a contradiction in terms? Exploring the synergy of
Education and Entertainment, Annals of Leisure Research, Vol.7 (1), Anzals, 2004, pp. 54-71.
http://eprint.uq.edu.au/archive/00003221/01/educational_leisure.pdf, [2006].
http://www.staff.vu.edu.au/anzals/ANNALS-Abstracts.htm, [2006].
Qvortrup, J. (1999), Crescer na Europa – Horizontes actuais dos estudos sobre a infância e a juventude, A infância na Europa: novo
campo de pesquisa social, Instituto de Estudos da Criança, Universidade do Minho, Braga, 15 p.
http://old.iec.uminho.pt/cedic/textostrabalho/jensqvortrup.pdf, [2006].
Rodriques, A. I. (2001) Alguns contributos para uma reflexão sobre o estudo do Turismo e da Comunicação,
Actas do VIII Encontro Nacional, Desenvolvimento eRuralidade no Espaço Europeu, APDR, Vila Real, 15 p.
Sarmento, M. J. (2002) A infância, exclusão social e educação como utopia realizável, Revista Educação &
Sociedade, Campinas, Vol. 23 (78), pp. 265 -283, Abril 2002.
http://www.scielo.br/pdf/es/v23n78/a15v2378.pdf, [2006].
Sarmento, M. J. (2003), As culturas da infância nas encruzilhadas da 2ª modernidade, Instituto de Estudos da
Criança, Universidade do Minho, Braga, 22 p.
http://old.iec.uminho.pt/cedic/textostrabalho/encruzilhadas.pdf, [2006].
Sarmento, M. J. (2005) Quinze anos é muito tempo…reflexões acerca da condição social das crianças, A página da Educação.
http://www.apagina.pt/arquivo/Artigo.asp?ID=3588, [2005].
Sarmento, M. J. (2005) Gerações e alteridade: interrogações a partir da sociologia da infância, Revista Educação
& Sociedade Vol. 26 (91), Campinas, Cedes, 2005, pp. 361-378.
http://www.scielo.br/pdf/es/v23n78/a15v2378.pdf, [2005].
Serrano, P. (1996) Redacção e Apresentação de Trabalhos Científicos, Relógio D´Água Editores, Lisboa, 318 p.
161
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
“Os Universitários de palmo e meio”
Caso de Estudo – Universidade de Aveiro
Schaff, P. (1882), History of the Christian Church, Volume V: The middle Ages, A.D.049-1294. Electronic Bible
Society Publication 2002, 484 p.
http://www.ccel.org/ccel/schaff/hcc5.html [2006].
The Higher Education Academy (2005), Resource Guide in Outdoor Education, Review of Hospitality, Leisure and
Tourism Network, Março de 2005, 17 p.
http://www.hlst.heacademy.ac.uk/resources/outdoor.pdf, [2006].
Torkildsen, G. (1992), Leisure and recreation management, E & FN Spon, London, pp. 5-30.
Unesco (1996), Learning: the Treasure Within, Task Force on Education for the Twenty-first Century, 45 p.
http://www.unesco.org/delors/, [2006].
Unicef (1989), Convenção dos Direitos da Criança, 51 p.
http://www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/convencao_direitos_crianca2004.pdf, [2005].
Universia.pt – O portal dos universitários, Da Universidade única à multiplicidade de universidade no século XXI,
As universidades em Portugal: história, organização e problemas
http://www.universia.pt/conteudos/universidades/universidade_em_portugal/universidade_unica.jsp, [2006].
Universidade de Aveiro, Quem somos?
http://www.ua.pt/apresentacao.asp, [2006].
Van Gils, I. (2000), What is playing, when perceived by children?, Actas do Congresso Internacional sobre os
Mundos sociais e culturais da infância, Vol. 1, CESC e IEC da Universidade do Minho, Braga, pp. 139 – 146.
Verger, J. (1973), Les Universités au Moyen Age, Presses Universitaires de France, col. SUP série L’Histoire, n º 14, Paris.
http://www.geocities.com/rosapomar via www.uc.pt [2006].
Voûte, C. (2000), Religious, cultural and political developments during the Hindu-Buddhist period in Central and
East Java - relations with India and Srilanka - human actors and geological processes and events, International
Academy of Indian Culture and Aditya Prakashan, New Delhi, 2000, pp. 299-344.
Wikipedia, the free encyclopedia, History of science in the Middle Ages,
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_science_in_the_Middle_Ages [2006].
Wikipedia, Tweenagers.
http://en.wikipedia.org/wiki/Tween_%28demographics%29, [2006].
Williams, A.; Shaw, G. (2002), Critical Issues in Tourism, Blackwell Publishing, Oxford, pp. 24.
http://www.blackwellpublishing.com/content/BPL_Images/Content_store/Sample_chapter/0631224130/shaw.pdf [2005].
162
Projecto Final de Curso
Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo
Você também pode gostar
- Equação de Halpin-Tsai 2Documento38 páginasEquação de Halpin-Tsai 2Tamara TavaresAinda não há avaliações
- Desenho de Canais de Vendas - Felipe SchultzDocumento9 páginasDesenho de Canais de Vendas - Felipe SchultzFelipe SAinda não há avaliações
- Especial Lingua Portuguesa - VestibularDocumento8 páginasEspecial Lingua Portuguesa - Vestibularprovas_st_jamesAinda não há avaliações
- Resolução Nº 074.2019 - Prerrogativas e Atribuições Dos Técnicos Industriais Com Habilitação em Eletrotécnica, Revoga A ResoDocumento5 páginasResolução Nº 074.2019 - Prerrogativas e Atribuições Dos Técnicos Industriais Com Habilitação em Eletrotécnica, Revoga A ResoFrancisco GuedesAinda não há avaliações
- JOGO VamosReciclarDocumento120 páginasJOGO VamosReciclarConstança CaetanoAinda não há avaliações
- Manual - 9851Documento38 páginasManual - 9851rpragosa100% (1)
- Atividade 07 - RevisadoDocumento5 páginasAtividade 07 - RevisadoNeusa RutkeAinda não há avaliações
- Lidando Com A Ansiedade e Desânimo - EbookDocumento27 páginasLidando Com A Ansiedade e Desânimo - EbookAnastácia Fordes100% (2)
- Apostila-Relaçoes de ConsumoDocumento25 páginasApostila-Relaçoes de ConsumoVinicius Machado QueirozAinda não há avaliações
- Caracterizacao Familia PIM PCFDocumento4 páginasCaracterizacao Familia PIM PCFJennifer Braga da SilvaAinda não há avaliações
- Corpo - TCFDocumento11 páginasCorpo - TCFPedroConradoAinda não há avaliações
- A Influência Da Hospitalidade em Jogos VirtuaisDocumento45 páginasA Influência Da Hospitalidade em Jogos Virtuaisrutsuman_blink-182Ainda não há avaliações
- Relatório Da AuscultaçãoDocumento4 páginasRelatório Da AuscultaçãoJosemar PascoalAinda não há avaliações
- Ovelha em Portugues-1Documento19 páginasOvelha em Portugues-1Ana Flávia Lima100% (6)
- Manual EletronDocumento37 páginasManual EletronJanilson LopesAinda não há avaliações
- 3° Etapa Planejamento 4º AnoDocumento63 páginas3° Etapa Planejamento 4º AnoPatrícia Santos VieiraAinda não há avaliações
- A Matemática Que Estabelece o Bitcoin PDFDocumento14 páginasA Matemática Que Estabelece o Bitcoin PDFAndersonAinda não há avaliações
- Garantia Bancáriai - SELO - VE - 15404Documento4 páginasGarantia Bancáriai - SELO - VE - 15404Americo AraujoAinda não há avaliações
- Texto 1. BRANDO. A Educao Como CulturaDocumento8 páginasTexto 1. BRANDO. A Educao Como CulturaIzabela AlmeidaAinda não há avaliações
- A Felicidade e A Quimica1Documento2 páginasA Felicidade e A Quimica1Cristiane Raquel Sausen100% (2)
- Parte 1 - Como Testar o Igniter (1992-1995 2 PDFDocumento3 páginasParte 1 - Como Testar o Igniter (1992-1995 2 PDFRegiane Alves FerreiraAinda não há avaliações
- Reconhecendo Crises de EpilepsiaDocumento17 páginasReconhecendo Crises de EpilepsiaRoseli MottaAinda não há avaliações
- Material-da-Aula-Curso de Português para EsPCEx 2-Aula 03 - Morfol-Livro-DigitalDocumento122 páginasMaterial-da-Aula-Curso de Português para EsPCEx 2-Aula 03 - Morfol-Livro-DigitalPedro RanieriAinda não há avaliações
- Práticas para A Sala de Aula e Book V2Documento124 páginasPráticas para A Sala de Aula e Book V2Registro psi100% (1)
- INVESTIMENTO A MULHERES E MENINAS NA CIÊNCIA (Geral e Específico) - FAPEAM - 2019 2023Documento12 páginasINVESTIMENTO A MULHERES E MENINAS NA CIÊNCIA (Geral e Específico) - FAPEAM - 2019 2023felipeguedes.fgAinda não há avaliações
- GeografiaDocumento5 páginasGeografiaCastigo MafutaAinda não há avaliações
- Alain Badiou - Pequeno Manual de InestéticaDocumento94 páginasAlain Badiou - Pequeno Manual de InestéticaRafael LuzAinda não há avaliações
- Gestao Projeto Tecnologico Estacio de Sa 5Documento2 páginasGestao Projeto Tecnologico Estacio de Sa 5fagner182Ainda não há avaliações
- Laudo Médico 3Documento15 páginasLaudo Médico 3Junior HochscheidtAinda não há avaliações
- Energia-Solar-Fotovoltaica Trajano-Viana Parte 1Documento18 páginasEnergia-Solar-Fotovoltaica Trajano-Viana Parte 1Henrique BastosAinda não há avaliações