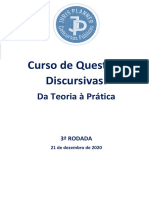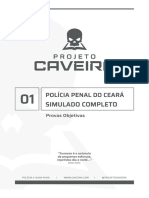Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
55 1 PB
55 1 PB
Enviado por
sarah_aladv1215Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
55 1 PB
55 1 PB
Enviado por
sarah_aladv1215Direitos autorais:
Formatos disponíveis
JUSTIA TERAPUTICA, DROGAS E CONTROLE SOCIAL
Alcides Jos Sanches Vergara Resumo Este artigo analisa criticamente os tribunais das drogas - Justia Teraputica como parte das tecnologias de segurana e expresso da racionalidade de controle social na preveno e no combate criminalidade e violncia atribuda e/ou associada dependncia de drogas com um recorte nos jovens infratores. O discurso e as prticas relacionados com a implantao desses tribunais so recentes no Brasil. Trata-se da aplicao de um tipo de pena - tratamento. O poder judicirio encaminha os dependentes das drogas como parte do cumprimento de medidas legais a realizar o tratamento para atender ao propsito de se livrar das drogas. Analisamos o avano do controle penal em contraponto ao social, e o incremento dessas estratgias neoliberais como parte dos novos dispositivos da sociedade de controle. Palavras-chave: Justia. Tratamento. Drogas. Criminalidade. Controle.
Introduo A Justia teraputica ou tribunal das drogas; tem sido uma das medidas adotadas pelo sistema judicirio em diferentes pases, na abordagem dos problemas associados ao uso abusivo de drogas e ao aumento da violncia e da criminalidade de rua nos grandes centros urbanos, em diversas partes do mundo e principalmente nos Estados Unidos da Amrica, lugar de sua concepo e origem. Como uma medida jurdica e penal esses tribunais das drogas encaminham os usurios de drogas e infratores que apresentam condutas violentas e antissociais para tratamento de desintoxicao em clnicas mdicas e hospitais. A medida tomada implica o monitoramento da execuo da pena - tratamento com a solicitao de avaliaes, exames e relatrios da equipe de sade e da assistncia social e psicolgica.
145
Procuramos
analisar
na
pesquisa,
mais
especificamente
discurso
de
institucionalizao do dispositivo da Justia Teraputica sua racionalidade e aplicao no territrio nacional com um recorte nos jovens infratores, atravs das medidas de proteo prevista no Estatuto da Criana e do Adolescente em vigncia desde 1990. O Estatuto, em seus artigos 98 (direitos ameaados - a vida e a sade), inciso III (em razo de sua conduta) e 101(verificada as hipteses do artigo 98) incisos IV e V permitem que a autoridade competente, requisite o tratamento psicolgico, mdico e/ou psiquitrico em ambiente ambulatorial e/ou hospitalar ou incluso em programa oficial ou comunitrio de auxlio, orientao e tratamento a alcoolista e toxicmanos, para os jovens usurios de drogas que apresentam dependncia qumica. A definio dos limites de uma patologia associada ao uso de drogas e cristalizada na noo de dependncia qumica complexa e polmica. Os poucos estudos abrangentes sobre o tema no Brasil se fundamentam em critrios semelhantes ao rgo responsvel por estes levantamentos nos EUA. Nesse modelo a dependncia uma doena crnica e sem cura. Os dados das pesquisas revelam grandes discrepncias. Os mdicos trabalham com categorias como uso abusivo ou nocivo, publicamente definidas de forma mais abrangente. Da mesma forma, o termo substncias psicoativas seria, em farmacologia, mais preciso cientificamente, porm o termo drogas permite uma comunicao com o significado compartilhado de forma mais ampla e pblica com a populao. O Estatuto afirma que os jovens em razo de sua conduta infracional so passveis de sofrerem a interveno do poder pblico e da justia para que cumpram medidas de proteo e socioeducativas. As medidas de proteo se aplicam nas situaes onde possvel constatar a condio de vulnerabilidade e risco. O conceito de vulnerabilidade tem sido tratado pelos especialistas de forma ampliada. Originado no movimento dos direitos humanos e desenvolvido no contexto da sade pblica tem o intuito de ultrapassar as noes de comportamento e grupo de risco devido aos aspectos segregacionistas e preconceituosos de uma viso limitada do conceito. A probabilidade da ocorrncia de situaes de risco inclui fatores individuais, sociais e institucionais ampliando a compreenso do leque de dimenses envolvidas na anlise. Do ponto de vista jurdico e penal as medidas socioeducativas possuem inegvel contedo aflitivo e retributivo, isto , corresponde a admitir o carter punitivo e penal
146
dessas medidas, porm subsiste a crena no seu aspecto reformador e de recuperao que esto implcitos nas mesmas. A legitimidade da interveno via medida socioeducativa prevista nas disposies do Estatuto abre o caminho para a implantao desses programas de Justia Teraputica: da pena - tratamento. O Juiz requisita o tratamento, como medida de proteo, j na audincia preliminar ou mesmo ao longo do cumprimento das outras medidas que so as socioeducativas propriamente ditas. Os jovens so encaminhados para tratamento mdico e/ou psicolgico como medida preventiva. A mais grave a internao, que implica a restrio de liberdade. Entretanto, pelo estatuto da criana e do adolescente o jovem considerado uma pessoa em desenvolvimento e o carter excepcional e a brevidade das medidas devem ser observados, devendo sempre que possvel evoluir para medidas em meio aberto como a liberdade assistida. Tais medidas, de proteo e socioeducativas, seguem o Princpio da Ateno Integral - lei n 8069 13 de julho de 1990, artigo 1, disposto no Estatuto da Criana e do Adolescente, e segundo Ferreira (2008), formam uma espcie de balizamento para a aplicao desses tratamentos para dependentes qumicos estimulados pela Justia. Conforme previstas na lei - 9099/95 que criou os Juizados Criminais Especiais e na nova lei -11.343/06 que instituiu o SISNAD (Sistema Nacional de Polticas Pblicas sobre Drogas) as medidas e penas alternativas esto presentes na poltica nacional sobre drogas que prescreve medidas para preveno do uso indevido, ateno e reinsero social de usurios e dependentes de drogas e outras previdncias e j vm sendo utilizadas com a populao adulta que deve cumprir as penas alternativas a priso. Desde o final da dcada de 1990, algumas experincias, conhecidas como Programas de Justia Teraputica vm sendo realizadas em importantes Estados brasileiros como o Rio Grande do Sul por iniciativa do ministrio pblico, no Rio de Janeiro atravs da Corregedoria Geral de Justia e Pernambuco com o poder Judicirio, e tambm, o Juizado da Infncia e Juventude de Braslia e outras regies do pas. Nos EUA a criao desses tribunais das drogas, o tratamento surge como uma pena alternativa, restritiva apenas de direitos e aparece como humanizao do sistema penal. Embora se trate de uma poltica proibicionista, isto , configura-se como uma poltica conservadora em relao s drogas que prega a abstinncia e o tratamento compulsrio. O
147
controle social se concretiza na norma judiciria de encaminhamento dos considerados dependentes qumicos. No Brasil, a Justia Teraputica comeou a se propagar e ser defendida em meio aos operadores do sistema jurdico, trabalhadores sociais e especialistas das mais diversas reas, tais como a sade, educao, segurana, assistncia social e conta com apoio da Associao Nacional de Justia Teraputica, presidida por Ricardo de Oliveira Silva, procurador de justia no RS e conselheiro titular do Conselho Nacional de Poltica Criminal e Penitenciria, vinculado ao Ministrio da Justia. A Associao v o modelo como um instrumento de justia social e cuja fonte de inspirao seria proveniente das anlises e experincias positivas notadamente na rea da infncia e da juventude, onde o Estatuto da Criana e do Adolescente dispe no artigo 112 inciso VII que se pode aplicar como medidas socioeducativas as medidas de proteo artigo 101 incisos V e VI que, como j foi mencionado no incio da exposio, prev o tratamento a alcoolistas e toxicmanos.
A pena-tratamento como uma alternativa? Em alguns trabalhos mais crticos (Passetti, 1991; Minayo, 1994) e outros publicados no Brasil mais recentemente como (Bravo, 2002; Rodrigues, 2002) e ainda (Rauter, 2003; Batista, 2003; Ribeiro, 2007), h claramente a compreenso de que essa poltica de criminalizao das drogas se dirige precisamente s populaes vulnerveis social e economicamente, uma vez que, atua para alm das drogas, sobre pequenas ilegalidades. Segundo Batista (2003):
Essas iniciativas promovem a ampliao do sistema penal, de certa forma criminalizando os eventos relacionados s drogas e certos sujeitos, uma vez que no atinge toda populao, mas penaliza seletiva e prioritariamente as classes perigosas. A Justia de Menores no Brasil, criada no Rio de Janeiro em 1923, se estruturou dentro desse quadro de cidadania negativa, ontem escravos e hoje massas marginalizadas urbanas, s conhecem o avesso da cidadania atravs dos sucessivos espancamentos, massacres, chacinas e da opresso cotidiana.
No quadro geral da redemocratizao do Pas vai ocorrer a reforma do cdigo penal, em 1984, e mais recentemente, nos anos 1990, o advento da lei 9.714/98 que alterou artigos do cdigo penal e ainda a criao da lei 9099/95 (Lei dos Juizados Especiais Criminais) que estabelece as penas e medidas alternativas.
148
A introduo dessas novas modalidades no tratamento penal e nas leis brasileiras de abrandamento das penas privativas de liberdade e sua substituio por medidas alternativas estabelece um modelo de justia aparentemente mais consensual e democrtico, uma vez que a lei diz que todos os autores envolvidos num processo judicial participam da soluo de um conflito causado pelos fatos que lhe deram origem. O Estatuto da Criana e do Adolescente - ECA (lei 8069/1990) e a nova a Lei sobre Drogas (lei 11343/2006) representam conjuntamente, com o restante desse aparato legal, a aplicao dessas medidas alternativas com a ampliao dos controles dos riscos potenciais e da criminalidade associada ao consumo abusivo de drogas pela populao jovem. De certo modo, esse marco legal na esfera dos direitos um fato recente. Do final do sculo XIX e durante boa parte do sculo XX, o discurso e as prticas construdas a respeito da criminalidade e das drogas entre os jovens so profundamente impregnados por concepes segregacionistas. Construiu-se o discurso do menor, daquele que precisava ser regulado, controlado e em alguma medida higienizado. Essas concepes e prticas figuram at hoje nas orientaes mdicas e jurdicas e, por que no mencionar, nas pedaggicas e morais produzidas ao longo dessa histria secular de construo do Estado Moderno. Claro que, como j mencionamos, esse discurso tem como objeto preferencial os jovens das classes populares. Historicamente, a presena de um discurso sobre a situao irregular dos jovens, privados de condies mnimas de existncia, objeto de maus-tratos, envolvidos com a criminalidade, a prostituio, os jogos de azar, pornografia e o uso de drogas serviam nesses casos, para o Estado regular quele menor que estava em situao irregular. E situao irregular era a condio de classe vulnervel dos jovens que precisavam ser controlados e disciplinados por serem potencialmente perigosos e uma ameaa paz social. O mundo demorou muito a reconhecer os direitos da juventude. Em 1924 foi elaborada a primeira declarao. Uma declarao de cinco artigos da Liga das Naes, impulsionada pelos rfos da primeira grande guerra. Havia milhes de rfos no mundo. Ainda no era uma lgica da universalidade dos direitos e sim de tutela e assistncia as crianas e aos jovens. A adoo de um sistema de proteo integral a infncia e a juventude e da superao da doutrina do menor infrator e da situao irregular um acontecimento muito recente. Na prtica a doutrina do menorismo ainda vigora e continua gerando discriminao, controle e higiene social. Ainda predomina o extermnio daqueles jovens que
149
viraram infratores em razo de sua conduta antissocial e fora da lei. Geralmente no se pergunta como e porque se produziu a situao que levou esses jovens a prtica de um ato infracional. Em se tratando do consumo de drogas, pelas leis brasileiras atuais o uso e o trfico de certas substncias psicoativas continuam a serem atos ilcitos e passveis de tratamento penal. A autoridade judicial pode determinar dentro da norma legal o encaminhamento para tratamento teraputico pala via das medidas socioeducativas previstas no Estatuto. O que acontece quando se estabelece um quadro de uso abusivo e/ou nocivo de drogas e a participao e o envolvimento dos jovens com a criminalidade. O discurso e a defesa da proteo integral se apoiam na luta pelo reconhecimento dos direitos humanos e de cidadania dos jovens e na luta pela superao da doutrina do menorismo que de certa forma subsiste no texto da lei e tambm culturalmente, dentro do sistema nacional de ateno aos jovens infratores e das instituies privativas de liberdade. uma tentativa, de que atravs das aes de cidadania e dos direitos humano, as questes da criminalidade e das drogas sejam vistas como problemas coletivos. Ou seja, no deixando de apurar as responsabilidades dos jovens em conflito com a lei, mas considerando-os como cidados com seus compromissos, direitos e deveres individuais estabelecidos na Constituio Federal. Conforme a doutrina da proteo integral, os jovens por se tratarem de pessoas em desenvolvimento, uma vez sancionados a cumprirem as medidas previstas em lei, devem possuir todas as garantias que asseguram o contraditrio e o amplo direito de defesa. Inimputvel no quer dizer que no haja responsabilizao, pelo contrrio, devem ser asseguradas as condies para o efetivo cumprimento das medidas dentro das regras do Estado de direito e do sistema legal vigente, com dignidade pessoa e respeito ao ser humano. Entretanto, na realidade, essas garantias, mesmo as processuais e jurdicas, esto muito aqum do esperado. O abuso na utilizao e no cumprimento das medidas encontra resistncia na sociedade e nos jovens submetidos a elas. Os casos de no cooperao no atendimento teraputico, as recadas e at mesmo o abandono do tratamento, so situaes limites e revelam, em muitas ocasies, as iniciativas dos jovens na tentativa de denunciar as arbitrariedades, agresses e mesmos castigos que sofrem muitas vezes das prprias instituies e profissionais responsveis pela execuo e acompanhamento das medidas.
150
Justamente quem deveria oferecer proteo a nega, ferindo a dignidade humana. Os jovens ao resistir ao discurso oficial dos estabelecimentos que oferecem o tratamento, em certa medida, estabelecem uma forma de chamar a ateno para o que ocorre no seu interior (Vicentin, 2003). Vicentin no seu livro Vida em rebelio defende a desobedincia civil como uma questo de direito e em sua pesquisa sobre as rebelies na antiga FEBEM tematiza de forma original a criminalizao dos jovens internos e os mecanismos de resistncia violncia institucional. Essas lutas no significam to somente a abolio dos estabelecimentos onde se materializam tais prticas e discursos. O trabalho mais significativo consiste em interrogar a racionalidade tica e poltica do atual sistema cultural e normativo, visando um novo posicionamento da sociedade, das classes e grupos frente s demandas, sempre permanentes, de ateno aos adolescentes infratores, dependentes qumicos e usurios de drogas. Segundo Passeti (1991):
Em qualquer discusso sobre drogas conveniente evitar os argumentos que funcionam como escudo, demandando a soluo imediata, pois qualquer resposta somente poder ser esboada a partir da historia das drogas no ocidente. (...) Do uso benfico incentivando a expanso do capital ao controle dos narcticos a produo e circulao das drogas no ocidente constituem os momentos chaves onde a ao do Estado comea a se estruturar para vigiar a sociedade narcotizada pela economia.
O que vai determinar a legalidade e/ou ilegalidade de certas drogas vincula-se fundamentalmente, s circunstncias ditadas pelos saberes da economia poltica. A expanso mercantil, a produo, o consumo de diferentes tipos de drogas, vo seguir a lgica do lucro e do capital. A produo, a sntese e a comercializao de substncias psicoativas movimentam um mercado de cifras astronmicas. A lavagem de dinheiro do trfico e outras operaes financeiras possibilitam que as mfias e o crime organizado adquiram fora poltica e se infiltrem nas foras do Estado. Conforme Castells (1999), o crescimento extraordinrio da indstria do trfico de drogas desde a dcada de 1970 tem transformado a economia e a poltica da Amrica Latina. Indstria essa, concentrada principalmente na produo, processamento e exportao de coca e cocana. O autor cita as principais caractersticas dessa atividade altamente lucrativa. Est orientada para a demanda de exportao. internacionalizada com uma diviso de trabalho rigorosa entre os locais de produo, processamento e distribuio. Um
151
componente essencial o sistema de lavagem de dinheiro. A necessidade de infiltrao e corrupo, chantagem e intimidao de autoridades, policiais, empresrios, jornalistas, juzes, qumicos, banqueiros outro fator determinante desse mercado. E para concluir sua anlise assinala que todo esse conjunto de transaes assegurado por meio de uso de violncia em um nvel extraordinrio. Devemos perguntar ento por essas condies e analisar em que situaes as medidas de proteo e as socioeducativas devem ser utilizadas e quais os efeitos que promovem? Uma forma de sano penal? Uma forma de interveno que possibilita a alternativa das aes teraputicas e educativas? De um lado, o modelo de Justia Teraputica passa a ser considerado, por alguns especialistas operadores do sistema judicirio e da segurana, da rea da sade e educao, responsveis pela execuo das medias educativas e de tratamento, um avano social em relao ao tratamento jurdico e mdico tradicional, oferecido a este tipo de questo, que foi o encarceramento no manicmio ou na priso comum, com a segregao fsica, psicolgica e social. De outro lado, o modelo muito criticado, por sustentar procedimentos conservadores e que representam um retrocesso nos mtodos de tratamento clnico e psicoterpico com usurios de drogas e tambm nas questes relacionadas s polticas pblicas e programas desenvolvidos na rea da sade, como por exemplo, a abordagem da reduo de danos. E, sobretudo porque se constitui com um dispositivo de biopoder dentro de uma estratgia biopoltica de controle das populaes conforme as pertinentes anlises de Foucault sobre os dispositivos de segurana e a gesto dos desvios e dos jovens em conflito com a lei.
A institucionalizao dos tribunais das drogas Os programas de Justia Teraputica passaram a ser adotados no Brasil no fim da dcada de 1990. Segundo seus crticos, como j mencionamos, retrocede-se a procedimentos e mtodos de certa forma limitados e j ultrapassados do ponto de vista teraputico. Permanncias de prticas disciplinares e proibicionista que subsistem na proposta da justia teraputica podem ser visualizadas pelo fato de profissionais psiclogos, ao lado dos juzes, promotores, mdicos e assistentes sociais serem convocados mais uma vez a exercer funes de vigilncia e controle atravs da emisso de laudos, relatrios e exames regulares que trazem a marca do dispositivo de poder.
152
Em 2003, o sistema Conselhos de Psicologia tornou pblica sua posio acerca da questo. No documento divulgado, tece uma srie de consideraes a propsito do tema e orienta os psiclogos quanto aos preceitos ticos, tcnicos, sociais e polticos defendidos pela profisso. A no discriminao e o preconceito contra as pessoas que usam e/ou abusam, ou so dependentes de substncias psicoativas e que a questo deve ser tratada como um problema de sade e no como uma questo moral. Finalmente, recomenda que os psiclogos no se coloquem como instrumentos da imposio de castigos e punies e que a promoo de sade e o bem-estar das pessoas e da humanidade deve ser a finalidade de suas intervenes. Apesar de ser tica e politicamente correta, a posio do Conselho foi cautelosa, enquanto entidade representativa da categoria, mas no suficientemente clara, se contra ou a favor, do modelo da Justia Teraputica. A proibio legal da produo e comercializao de drogas como a maconha e a cocana e a autorizao para produo e o uso regulamentado de outras como os medicamentos, o lcool e o tabaco permite constatar que a norma legal no apresenta uma relao direta com os potenciais prejuzos a sade das pessoas e das comunidades. De longe as drogas mais consumidas so aquelas que mais danos apresentam a sade, entretanto a tolerncia cultural e os interesses corporativos da indstria acabam por se sobrepor ao debate pblico e contribuem para uma abordagem que em geral acaba tendendo para a represso e a criminalizao de certas drogas, proscritas pela lei, e dos usurios e traficantes de tais drogas ilcitas. O tema da dependncia qumica e o seu diagnstico, tudo isso envolve uma ampla gama de fatores que vo desde a relao que o a pessoa possui com a droga, o tipo de drogas consumidas, as situaes as mais variadas onde se d a aquisio e o consumo; as relaes construdas, os interesses e finalidades envolvidas, os efeitos produzidos individual e socialmente, como vimos bastante amplo e complexo, sensvel e muito polmico. O relatrio da OMS de 1969 define frmaco dependncia como o resultado psquico e algumas vezes fsico resultante da interao entre um organismo vivo e uma substncia, caracterizado por modificao de comportamento e outras reaes, que incluem um impulso a utilizar a substncia de modo contnuo ou peridico, com a finalidade de experimentar seus efeitos psquicos e, algumas vezes evitar o desconforto e a privao. A tolerncia pode estar presente ou no.
153
Segundo Silveira (1996), o termo dependncia utilizado para se referir a determinados comportamentos e designar o abuso como a origem do problema. Assim a relao entre o sujeito e a droga configura uma patologia, pela sua intensidade ou pela sua preponderncia, independente das caractersticas especficas das drogas utilizadas. Multiplicam-se as descries de dependncias o que apresentam em comum a falta de limites e o excesso. Entretanto, observa o autor, que, tanto do ponto de vista leigo, quanto cientfico, a noo de falta de limites influenciada pelo julgamento moral da sociedade. A partir de quando algo passa a ser demais? Qual a referncia tomada como limite aceitvel, admissvel? No h um exagero na extenso do conceito de doena? Apesar de todo avano cientfico acumulado o que se afastada da norma, a dependncia, tende a ser considerada patolgica, e, nesse aspecto, as drogas ilcitas encontram-se ainda mais sujeitas ao estigma e ao preconceito. Partimos ento de uma conceituao extremamente genrica e aplicvel a distintas situaes e fenmenos relacionados ao consumo de drogas. O uso indevido de drogas constitui um tema de grande complexidade. Da mesma forma que as toxicomanias e no podem ser reduzidas aos seus componentes biolgicos, nem toda dependncia biolgica se associa a uma conduta toxicomanaca. Para Silveira (1996), s muito recentemente, a poltica proibicionista com relao s drogas, que se estabeleceu a partir da relao entre os fenmenos mrbidos e julgamentos morais, vem sendo revista. O que passa a importar no mais a droga em si, mas as reaes do indivduo aos acontecimentos de sua vida. O que se contrape a dependncia no a abstinncia, mas, sim, a liberdade. A perda de liberdade do indivduo constitui a doena. A cura de um dependente obtida quando ele adquirir a liberdade de escolher o padro de relao que passar a ter com a droga. Sob o rtulo frmaco-dependncia esto includas realidades individuais muito diversas. A nfase dada s condutas e no aos efeitos de uma substncia especfica corresponde atualmente ao pensamento dominante. Entretanto, corre-se o risco do enquadramento baseado em modelos explicativos rgidos, baseadas nas mesmas ideias preconceituosas j mencionadas. Se no a droga que faz o dependente, podemos considerar a dependncia uma doena? Tem cura? Uma parte dos cientistas e especialistas na matria afirma que sim. Para
154
eles se trata de uma doena crnica, progressiva e incurvel tal como a diabetes ou hipertenso, podendo ser fatal. O tratamento demanda monitoramento do dependente qumico/adito de forma permanente e ao longo de sua vida toda. O termo addictum de origem grega significa aquele que se torna escravo para salvar uma dvida, abrindo mo da sua condio de ser humano. Existem diversas abordagens e intervenes teraputicas relacionadas ao uso de drogas, os modelos de anlise presentes na literatura so o jurdicomoral, o mdico e o psicossocial, onde participam as trs dimenses o indivduo, a droga e o meio social. No Brasil o modelo que tem maior aceitao por privilegiar a adeso voluntria fundamentado nas orientaes desenvolvidas pelo psiquiatra francs Claude Olivenstein, autoridade reconhecida mundialmente nos anos 1980 pelo seu trabalho que sustenta uma prtica que busca evitar ao mximo as internaes, privilegiar mltiplas formas de interveno, considerar a complexidade e as motivaes do envolvimento e uso de drogas. Clinicamente bastante complexo e difcil diagnosticar a dependncia de drogas dado o conjunto de fatores envolvidos de outra ordem que no as biolgicas na atitude de manter o vcio ou lagar o hbito, as crises de abstinncia e o desconforto nas fases iniciais do tratamento. Normalmente os efeitos agem por certo perodo de tempo no organismo mesmo depois da interrupo do uso. O tratamento variado, depende de uma gama de fatores bastante ampla que determina o envolvimento com a droga e comporta uma condio fundamental, que a adeso voluntria do sujeito ao processo teraputico. Os resultados alcanados com os mtodos de tratamento compulsrio e pelas abordagens convencionais so bastante medocres. Se a adeso no determinante para o diagnstico, para o tratamento indispensvel; o prognstico fica completamente aberto em razo dessa premissa. As recadas so muito frequentes e comuns no comeo de qualquer tratamento com drogas e dependncia. Devemos perguntar ainda se a abstinncia a estratgia mais adequada. Em que situaes ela seria necessria, na maioria dos casos, em alguns deles? Ou em nenhuma hiptese? possvel pensar outras abordagens mais adequadas e apropriadas? O que nos diz a perspectiva adotada sob a tica da reduo de danos? Como deve ser a intensidade e frequncia e a durao do tratamento do usurio? O acompanhamento, quem deve faz-lo o mdico, o terapeuta, a equipe de sade, a justia? Como fica a questo da quebra do sigilo com procedimento padro do contrato teraputico, quando da necessidade de informar a
155
justia atravs de relatrios? Como fica a tica e o respeito integridade da pessoa durante o processo de tratamento e de alta? De um modo geral, vimos que, a dependncia de drogas, os tratamentos utilizados e os problemas com a lei dos adolescentes infratores, colocam em conflito, as reas responsveis pela aplicao das medidas de proteo e socioeducativas. No Brasil quadruplicaram os adolescentes infratores que cumprem medidas socioeducativas privativas de liberdade ou aguardam na provisria a audincia com a justia, de 1996 at 2006. Dados da Secretaria Especial de Direitos Humanos demonstram que no perodo, enquanto o sistema penal levou vinte anos para duplicar, em dez anos o Sistema Nacional de Atendimento Scio Educativo (SINASE) quadruplicou. Um dado importante, mas que no deve ser analisado isoladamente para o tema da pesquisa, que 86% afirmam serem usurios de drogas. Os dados apresentados pelo SINASE traam um perfil dos adolescentes que so, em sua esmagadora maioria, pobres, de baixa escolaridade, e possuem pouco ou nenhum acesso aos bens e signos culturais e materiais da sociedade de consumo. Nos dados apresentados, h um recuo dos crimes contra o patrimnio, o que um possvel indicador da subnotificao ou de que o roubo para o consumo do trfico diminuiu. Contudo, o que justifica a internao a grave violao de direitos contra a pessoa, no sendo essa a realidade dos dados que encontramos no sistema socioeducativo. A grande maioria dos internos cometeu pequenos delitos, no se justificando de imediato a medida mxima prevista no estatuto que a restritiva de liberdade, a internao.
Consideraes finais H que se reconhecer que, de fato, as medidas alternativas e a maneira com que vem sendo executadas geram grandes questionamentos quanto a sua eficcia e resultados concretos no sentido da superao dos mtodos tradicionais de controle e monitoramento do abuso de drogas e da criminalidade. Polmicas parte, o fato que caminhamos a passos largos para uma sociedade de controle. Conforme afirmou Gilles Deleuze (1992), em seus ltimos escritos:
O homem no mais o homem confinado, mas o homem endividado. verdade que o capitalismo manteve como constante a misria de trs quartos da humanidade, pobres demais para as dvidas, numerosos demais para o confinamento: o controle no s ter que enfrentar a dissipao das fronteiras, mas tambm a exploso dos guetos e favela. (...) O que conta que estamos no incio de alguma coisa. No regime das prises: a busca de penas substitutivas, ao menos para a pequena delinquncia, e a utilizao de coleiras eletrnicas
156
que obrigam o condenado a ficar em casa em certas horas. (...) No regime de hospitais: a nova medicina sem mdico nem doente, que resgata doentes potenciais e sujeitos a risco.
Novas estratgias de controle so produzidas e ganham contornos mveis e difusos se ampliando para os espaos abertos com o monitoramento e vigilncia permanente das atividades cotidianas. Mansano (2007), em sua tese de doutorado, Sociedade de Controle e linhas de subjetivao, apoiando-se nos escritos de Deleuze e Foucault que descrevem essas novas modalidades de controle:
De fato, com o avano e a transformao da vida urbana cresceu nas ltimas dcadas a necessidade de ampliar as formas de controle e estend-las para os espaos abertos... Esses espaos bem mais complexos se caracterizam pela passagem e pelo fluxo populacional constitudo pela mistura de indivduos diferentes. Para tentar administrar a diversidade e os conflitos que dela decorrem, os dispositivos de controle se multiplicam e atuam em redes que monitoram a movimentao do sujeito bem como os demais fluxos que atravessam a sua existncia (Mansano, 2007, pg.3).
Esses regimes e estratgias que geram efeitos de poder poderiam, em suas formas clssicas, ser perfeitamente identificados com os protocolos de pesquisa de matriz tradicional da psicologia comportamental e seu rol de variveis e medidas e testes. Matriz essa, que saindo dos laboratrios, hoje reivindica uma participao efetiva na esfera renovada dessa clnica do controle social introduzida pelo modelo da justia teraputica. Os programas de justia teraputica, por vezes, como se apresentam, parecem se encaixar perfeitamente nessas descries e anlises acerca das estratgias de controle social; em meio aberto esses dispositivos se tornam mais descentralizado e agregam um nmero cada vez maior de agentes nas tarefas de monitoramento e vigilncia. possvel, pelo menos em tese, perceber que se trata de um a mudana nas tecnologias de vigilncia e controle social, criadas com o propsito de agir preventivamente sobre os jovens infratores. A substituio de um enfoque exclusivamente punitivo, por outro de ndole teraputica, desloca a questo da criminalidade para localiz-la como doena. A figura da doena vai servir como suporte para o envolvimento de mais agentes e agencias na vigilncia e no controle: a famlia, os profissionais da rea de sade e as entidades que acolhem os dependentes qumicos.
Referncias ABRAMOVAY, Miriam. Juventude, violncia e vulnerabilidade na America Latina: desafio para as polticas pblicas. UNESCO, BID. Braslia, 2002.
157
BATISTA, Vera M. Difceis ganhos fceis: drogas e juventude pobre no Rio de Janeiro. RJ, REVAN, 2003. BELENKO, S. Research on Drug Courts: a critical review 2001 update. The National Center on Addiction and Substance Abuse at Columbia University. USA, 2001. BITENCOURT, Renato Nunes. A Sociedade de Controle e seu indiscreto olhar normativo. Rev. Espao Acadmico n.94. So Paulo, 2009. BRAVO, Alejandro Omar. Tribunais Teraputicos: vigiar, castigar e/ou curar. So Paulo, Revista Psicologia e Sociedade, 2002. CASTELLS, Manuel. Fim do Milnio. V.3 In. A era da Informao: economia, sociedade e cultura. 3 edio. So Paulo. Ed. Paz e Terra, 2002. DELEUZE, Gilles. Ps-data sobre las sociedades de control. In: FERRER, C. (Org.). El lenguage libertario 2: Filosofia de la protesta humana. Montevideo, Piedra Libre, 1991, p. 17-23. FOUCAULT, Michel. Nascimento da Biopoltica. Edio estabelecida por Michel Senellart sob a direo de Franois Ewald e Alessandro Fontana. Traduo Eduardo Brando. So Paulo: Ed. Martins Fontes, 2008. MANSANO, Sonia R. Sociedade de Controle e Linhas de subjetivao. Tese de Doutorado defendida na PUC-SP, 2007. MINAYO, Maria C. & DERLANDES, Suely F. A complexidade das relaes entre drogas, lcool e violncia. Cadernos de Sade Pblica. Rio de Janeiro v. 14 (1), 1998. MINAYO, Maria C. Violncia Social sob a perspectiva da sade pblica. Cadernos de Sade Pblica vol. 10. Rio de Janeiro, 1996. OLIVEIRA, C. S. Levantamento Nacional do Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei - SINASE 2009. Secretaria de Direitos Humanos. Braslia, 2009. PASSETTI, Edson Das Fumeries ao narcotrfico. So Paulo, EDUC, 1991. RAUTER, Cristina. Criminologia e Subjetividade no Brasil. Rio de Janeiro, REVAN, 2003. RIBEIRO, Fernanda M. Lages. Justia Teraputica Tolerncia Zero: arregaamento biopoltico do sistema criminal punitivo e criminalizao da pobreza. Dissertao de mestrado UERJ, RJ, 2007. RODRIGUES, Thiago M. S. A infindvel Guerra Americana, Brasil, EUA e o narcotrfico no continente. So Paulo em Perspectiva, Vol.16, 2002.
158
SARAIVA Joo B. Adolescentes em conflito com a Lei: da indiferena proteo integral. POA, Livraria do Advogado, 2005. _________, Joo B. Compndio de Direito Penal Juvenil: Adolescente e ato infracional. Livraria do Advogado, 3 edio. Porto Alegre, 2006. SILVEIRA, David Xavier. Dependncia do que estamos falando? (in) Dependncia: compreenso e assistncia s toxicomanias. So Paulo. Casa do Psiclogo, 1996. VICENTIN, Maria C. G. A vida em rebelio: jovens em conflito com a lei. So Paulo. Hucitec, 2000. WAISELFISZ, J. J. Mapa da Violncia 2006: os jovens do Brasil. OEI (Organizao dos Estados Ibero-Americanos para a educao, a cincia e a cultura) Braslia, 2006.
Sobre os autores: Alcides Jos Sanches Vergara: Professor Assistente da Universidade Estadual de Londrina. Mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doutorando em Psicologia Social pela Universidade Estadual Paulista. E-mail: alver@uel.br Endereo: Rua Detroit, 44. Londrina, Paran, Brasil. CEP: 86060-120 Telefones: (043) 33040694 (043) 91560362
Você também pode gostar
- Cannabis Sativa - Substâncias Canabinóides em MedicinaDocumento240 páginasCannabis Sativa - Substâncias Canabinóides em MedicinabetoAinda não há avaliações
- Edital Verticalizado Comparado - PRF e PF 2021 - Alvofederal 3edDocumento20 páginasEdital Verticalizado Comparado - PRF e PF 2021 - Alvofederal 3edpaulo roberto januário benjoinoAinda não há avaliações
- Artigos Saúde MentalDocumento284 páginasArtigos Saúde MentalDeborah AlvesAinda não há avaliações
- Producaodeprovas Por Whatsapp e Email PDFDocumento28 páginasProducaodeprovas Por Whatsapp e Email PDFRafael MenezesAinda não há avaliações
- Prova de Intrerpretação e IntextualidadeDocumento22 páginasProva de Intrerpretação e IntextualidadeJoanneza Teixeira100% (2)
- Simulado Carreiras PoliciaisDocumento27 páginasSimulado Carreiras Policiaisricarddorocha100% (1)
- Revista Segurança, Justiça e CidadaniaDocumento180 páginasRevista Segurança, Justiça e CidadaniaMarcel CelzeuAinda não há avaliações
- PublicacaoDocumento1 páginaPublicacaoRenata DutraAinda não há avaliações
- Manual para ComentariosDocumento3 páginasManual para ComentariosRenata DutraAinda não há avaliações
- Bruna Sandim 21600445Documento58 páginasBruna Sandim 21600445Renata DutraAinda não há avaliações
- A Semi-Imputabilidade Do PsicopataDocumento24 páginasA Semi-Imputabilidade Do PsicopataRenata DutraAinda não há avaliações
- Petição de Renúncia de HerançaDocumento1 páginaPetição de Renúncia de HerançaRenata Dutra100% (3)
- Normas Monografia UfgDocumento4 páginasNormas Monografia UfgRenata DutraAinda não há avaliações
- Lei de TerrorismoDocumento18 páginasLei de TerrorismoVanderson GomesAinda não há avaliações
- Iraimundo,+rev Ideias v8 2 9 Janine Targino - InddDocumento20 páginasIraimundo,+rev Ideias v8 2 9 Janine Targino - InddFernando RodriguesAinda não há avaliações
- EIXO4Documento18 páginasEIXO4viniciusjansenAinda não há avaliações
- ARTIGO - Combate As Drogas - Fracasso Anunciado - Jose Mauro Braz de LimaDocumento7 páginasARTIGO - Combate As Drogas - Fracasso Anunciado - Jose Mauro Braz de LimaPaulo César BelléAinda não há avaliações
- Artigos de OpiniãoDocumento5 páginasArtigos de OpiniãoJoão MarcosAinda não há avaliações
- Artigo Sobre CrackDocumento14 páginasArtigo Sobre CrackMarlos RobertoAinda não há avaliações
- Um Século de Favela11Documento7 páginasUm Século de Favela11Ronaldo FurtadoAinda não há avaliações
- Cad Enem 2009 2aaplic Dia 1 - BrancoDocumento36 páginasCad Enem 2009 2aaplic Dia 1 - BrancoFellype Diorgennes Cordeiro GomesAinda não há avaliações
- Reportagem - Marcha Da Maconha (Projeto de Iniciação Científica em Comunicação)Documento5 páginasReportagem - Marcha Da Maconha (Projeto de Iniciação Científica em Comunicação)Maurilio MardeganAinda não há avaliações
- McAfee Cybercrime HactivismDocumento56 páginasMcAfee Cybercrime HactivismvspachecoAinda não há avaliações
- Crime Na Igreja Universal Do Reino de Deus (Relatos Do Ex-Pastor Joao Coelho de PortugualDocumento13 páginasCrime Na Igreja Universal Do Reino de Deus (Relatos Do Ex-Pastor Joao Coelho de Portugualapi-381675550% (4)
- TCC ProntinhoDocumento17 páginasTCC ProntinhoBeatriz AlabAinda não há avaliações
- Curso de Questões Discursivas:: Da Teoria À PráticaDocumento7 páginasCurso de Questões Discursivas:: Da Teoria À PráticaSilva NetoAinda não há avaliações
- Atualidades - MATERAL I - Carla KurzDocumento163 páginasAtualidades - MATERAL I - Carla KurzViviane Ferreira TeixeiraAinda não há avaliações
- Cidade e Conflito Roubos Patromonio e LetalidadeDocumento62 páginasCidade e Conflito Roubos Patromonio e LetalidadeRenato Soares PaivaAinda não há avaliações
- Resumo Expandido Walter Luiz Donofrio Sobrinho PDFDocumento7 páginasResumo Expandido Walter Luiz Donofrio Sobrinho PDFWalter Luiz Donofrio SobrinhoAinda não há avaliações
- 1º Simulado PPCE - Projeto CaveiraDocumento11 páginas1º Simulado PPCE - Projeto Caveiraemanuelricardo9999Ainda não há avaliações
- Exercitando Pecas Com Linhas PadraoDocumento99 páginasExercitando Pecas Com Linhas Padraothivictor100% (5)
- Um Policial Pode Prender Você Sem Provas. E A Justiça Vai Acreditar Nele - Ponte JornalismoDocumento6 páginasUm Policial Pode Prender Você Sem Provas. E A Justiça Vai Acreditar Nele - Ponte JornalismoEneas CesconettoAinda não há avaliações
- Tráfico de Drogas e Apreensão em Flagrante de Adolescente Infrator - JusbrasilDocumento12 páginasTráfico de Drogas e Apreensão em Flagrante de Adolescente Infrator - JusbrasilAnderson Menezes PimentaAinda não há avaliações
- 06-Jorge Da SilvaDocumento4 páginas06-Jorge Da SilvaEstudos Concursos2020Ainda não há avaliações
- Temas de RedaçãoDocumento5 páginasTemas de RedaçãoAerikson CarvalhoAinda não há avaliações