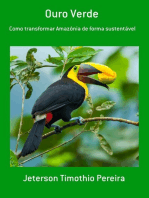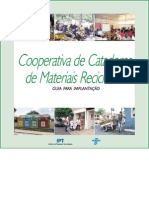Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Agrofloresta Semi Arido Henrique Souza
Agrofloresta Semi Arido Henrique Souza
Enviado por
Oliveira Felipe0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
7 visualizações3 páginasDireitos autorais
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
7 visualizações3 páginasAgrofloresta Semi Arido Henrique Souza
Agrofloresta Semi Arido Henrique Souza
Enviado por
Oliveira FelipeDireitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 3
Seminrio Petrobras de Lxperincias Florestais
Salvador/BA, 29/0B a 01/09/2005
1
EXPERINCIAS COM SISTEMAS AGROFLORESTAIS NO
SEMI-RIDO
Henrique Sousa
Eng. Agrnomo, CONATURA. E-mail: souza_henrique@hotmail.com
A vegetao do semi-rido chamada de caatinga, que, por sua vez, significa mata
cinzenta. Esse nome resulta do fato que em uma parte do ano a vegetao perde as suas
folhas e a paisagem toma um aspecto cinzento. Neste perodo, no s a vegetao, mas
toda vida reduz o seu metabolismo, economizando gua e energia.
Semi-rido e caatinga so nomes que tomaram um sentido pejorativo. Quando se
ouve esses nomes, logo vem a mente seca, fome, misria e necessidades. No entanto,
quanto mais se convive com este bioma, mas se percebe-se que um lugar rico, um
paraso. o local onde se produz uma diversidade de alimentos importante para o homem,
com o menor uso de insumos, como o feijo, milho, mandioca, gerimum, pinha, caju,
abacaxi, maracuj, mamo, carne, mel e muitos outros. No se pode esquecer que o local
onde melhor produz a mamona e o gergelim, duas fontes nobres de leos.
O perodo sem chuva que acontece anualmente no semi-rido no constitui nenhum
problema para os seres-vivos que so da caatinga. Tenho freqentemente perguntado as
pessoas, mesmo as mais idosas, se j encontraram algum sapo, tartaruga, siriema, umbu,
aroeira, ou outras espcies, mortas no perodo seco, por falta de gua ou comida, e todos
so unnimes em afirmar que isso no ocorre. A vida da caatinga adaptada para as suas
condies fsicas e climticas. O mesmo no ocorre com as espcies animais e vegetais
domesticadas ou mesmo vindas de outros biomas, estas espcies, geralmente, no sabem
conviver em harmonia com o bioma, para eles viverem bem preciso criar as condies
para as suas necessidades biolgicas.
As notcias de crises que se ouvem constantemente resulta de se viver e produzir sem
levar em conta os princpios, as caractersticas e as qualidades do bioma, resulta de se
desconsiderar as suas leis.
Mesmo com toda desconsiderao, ainda se produz muito no semi-rido. Na Bahia
existe uma rodovia chamada Estrada do Feijo, que liga o interior, a conhecida micro-regio
de Irec, BR 116, prximo a Feira de Santana. Uma curiosidade que os caminhes que
trafegam nessa estrada sempre saem carregados do semi-rido com produtos agrcolas
(feijo, mamona, pinha, milho), fosfato, calcrio etc., e geralmente retornam vazios. Isto nos
Seminrio Petrobras de Lxperincias Florestais
Salvador/BA, 29/0B a 01/09/2005
2
diz que esta micro-regio uma exportadora de riquezas. Isso no exclusivo deste local,
mas de todo o semi-rido. Assim, mais uma vez, vemos que a Caatinga rica e abundante.
Sendo o semi-rido to rico, por que, ento, tantas colheitas perdidas, porque a baixa
produtividade, fome e misria?
A resposta est na forma de organizao baseada na explorao dos recursos
existentes e na desconsiderao dos princpios de manejo do agroecossistema. Como
exemplo, podemos citar a derrubada da caatinga e o cultivo anualmente de milho e feijo,
ainda queimando ou dando para os animais todo os restos culturais. O resultado disso so
as crises, inevitavelmente!
Uma reclamao constante a falta de gua, chegando a cogitarem a transposio
do Velho Chico. Mas esta condio faz parte da lgica da natureza, caracterstica intrnseca
do bioma. Devido s caractersticas climticas da regio, no seria inteligente grandes
volume de gua exposta, a perda por evaporao seria alta. Por exemplo, a represa de
sobradinho na Bahia a campe de perda de gua por evaporao. Ento,
inteligentemente, a gua do semi-rido est organizada e protegida nos tecidos vegetais
que so verdadeiras reservas de gua. Podemos ver isto facilmente no mandacaru, na
palmatria, no facheiro, na babosa que devido a sua fisiologia peculiar evita perda de gua;
na barriguda, nos xilopdios do umbu e em muitas outras plantas.
As experincias agroflorestais no semi-rido se baseiam nestes princpios:
A caatinga um bioma rico:
1- Os solos so frteis (pode estar degradado no momento, mas tem uma natureza de
fertilidade);
2- Existe gua, mesmo no estando visvel aos olhos;
3- Os seres vivos do local convivem bem com as caractersticas do ambiente;
As experincias ora comentadas foram feitas juntamente com os agricultores da
regio, os quais nos tem ensinado muito com suas experincias prticas. E, geralmente, o
trabalho parte da realidade de cada um e do seu nvel de compreenso.
Por muito tempo os agricultores tm trabalhado na forma de explorao, sempre
procurando tirar o mximo que pode de suas reas. Procurando sempre maximizar a sua
produo e seus rendimentos. Para isso, acostumaram-se s queimadas, revolvimento do
solo e monocultivos. So hbitos arraigados que j fazem parte da cultura do povo. Ciente
deste fato e de que mudana de hbitos no um processo simples, que o aprendizado
acontece aos poucos, comeando pelo simples o trabalho tem usado o princpio de dar um
passo de cada vez.
Seminrio Petrobras de Lxperincias Florestais
Salvador/BA, 29/0B a 01/09/2005
3
Assim, o trabalho se inicia na realidade do agricultor, apenas acrescendo um item de
cada vez. Por exemplo, ao ele plantar o milho e o feijo ele insere nas mesmas covas o
andu. Ao findar o ciclo do feijo e milho lhe restar o andu, que ter mltiplos usos, como
alimentao da famlia, animal e a melhoria das condies do sistema para o prximo
cultivo. Aps este compreensvel e bem sucedido passo, por exemplo, ele j estar
preparado para outros maiores como inserir rvores frutferas e florestais, uso dos resduos
como cobertura do solo e etc.
Em um trabalho mais complexo, se introduz a palma e sisal adensados juntamente
com as plantas de ciclo curto, como o milho e o feijo e introduz na mesma poca as
plantas forrageiras, adubadeiras, frutferas e florestais.
A proposta que, em cada perodo do ano, tenha alguma colheita da rea, o mesmo
acontecendo nos anos seguintes. Pode-se exemplificar um plantio assim, partindo de uma
rea comumente arada: abertura de sulcos distanciados 50cm de um para outro, aps a
abertura coloca-se pedaos de palma distanciada 50 cm de um para outro, aps este passo,
coloca-se no mesmo sulco que foi implantado a palma, uma mistura de sementes contendo
feijo, milho, andu, fava, frutas (caju, maracuj, pinha, umbu, araticum, mamo, manga,...),
umburana, aroeira, gliricidia, sanso do campo, jurema sem espinho, tamboril, e outras.
Aps a cobertura da mistura de sementes, ainda se planta sisal na forma de figas, que so
as mudas novas que ainda esto no pendo floral. O feijo e o milho so colhidos
normalmente, ficando na rea o andu e a fava para colher no perodo seco. No ano
seguinte, j se pode colher palma, continua o andu e a fava, j inicia o mamo e o maracuj.
Lembrando que so retiradas as plantas que j cumpriram a sua funo no sistema, tambm
so raleadas as espcies que esto com maior densidade. Todo esse material podado fica
em cobertura melhorando as condies do sistema. No terceiro e quarto ano, as demais
fruteiras j iniciam a produo, enquanto j existe uma grande disponibilidade de forragem
como palma e as diversas leguminosas. Neste perodo, o agricultor fica com a liberdade de
continuar manejando a rea implantada ou pode decidir fazer uma poda drstica no sistema
e implantar culturas como: milho, feijo e verduras, podendo, claro, corrigir os pontos fracos
na rea.
Nesta proposta, procura-se duplicar nas reas de plantio os processos que ocorrem na
natureza e como resultado, tambm o que ocorre no ambiente natural, que o crescimento
da potencialidade, como a fertilidade fsica, qumica e o crescimento energtico.
Você também pode gostar
- Árvores FrutiferasDocumento296 páginasÁrvores Frutiferasapi-381842094% (17)
- Horta Orgânica: 50 Ideias para fazer diferentes tipos de hortas em sua própria casaNo EverandHorta Orgânica: 50 Ideias para fazer diferentes tipos de hortas em sua própria casaAinda não há avaliações
- NR 13 - Limpeza de Novos Sistemas de Tubulações Após MontagemDocumento14 páginasNR 13 - Limpeza de Novos Sistemas de Tubulações Após MontagemCPSSTAinda não há avaliações
- Manual de BioconstruçãoDocumento64 páginasManual de Bioconstruçãoapi-3704111100% (5)
- Catalogo-Eletrico BR PDFDocumento84 páginasCatalogo-Eletrico BR PDFTiago SouzaAinda não há avaliações
- Apresentacao Seminário NR16Documento20 páginasApresentacao Seminário NR16Leandro Pereira CarneiroAinda não há avaliações
- GMDocumento85 páginasGMThomas Fensterseifer100% (2)
- GUARANÁ - Coleção Plantar - EMBRAPA (Iuri Carvalho Agrônomo)Documento46 páginasGUARANÁ - Coleção Plantar - EMBRAPA (Iuri Carvalho Agrônomo)jessika araujoAinda não há avaliações
- Citros - EMBRAPA PDFDocumento9 páginasCitros - EMBRAPA PDFViam prudentiaeAinda não há avaliações
- Compostagem Caseira (Caixote)Documento6 páginasCompostagem Caseira (Caixote)Louyse GalvesAinda não há avaliações
- Fabrico de Sabão Com Óleo ComestívelDocumento4 páginasFabrico de Sabão Com Óleo Comestívelapi-3704111100% (2)
- E Book Laudos EletricosDocumento21 páginasE Book Laudos Eletricosdafina4275100% (2)
- Guia Arvores - Cafe RegenerativoDocumento125 páginasGuia Arvores - Cafe RegenerativoMarcelo CarvalhoAinda não há avaliações
- Mudras Gestos SagradosDocumento28 páginasMudras Gestos SagradosMarcelo Fernandes100% (3)
- Automação Do Processo de Rebarbamento de Peças em Máquinas de Moldagem de Plástico Por SoproDocumento80 páginasAutomação Do Processo de Rebarbamento de Peças em Máquinas de Moldagem de Plástico Por SoproDiego PiresAinda não há avaliações
- Cartilha Final PDFDocumento26 páginasCartilha Final PDFMaria CarolinaAinda não há avaliações
- Tabela de Vapor Saturado: Pressão Absoluta KGF/CMDocumento1 páginaTabela de Vapor Saturado: Pressão Absoluta KGF/CMTecnologiaemCAD100% (1)
- Manual Multec 700 DashboardDocumento11 páginasManual Multec 700 DashboardVitor100% (2)
- Qualidade Na Reciclagem de PlásticosDocumento23 páginasQualidade Na Reciclagem de Plásticosapi-3704111Ainda não há avaliações
- Sebenta PastagensDocumento38 páginasSebenta PastagensPedro Curvelo TavaresAinda não há avaliações
- Frutas Do Cerrado 2Documento6 páginasFrutas Do Cerrado 2TapiocaDoceAinda não há avaliações
- 7 Manuall ANA Conservacao Reuso AguaDocumento90 páginas7 Manuall ANA Conservacao Reuso AguaBastosF100% (1)
- 01 Cultura PereneDocumento2 páginas01 Cultura PereneMaria Carolini Scherrer Lindoso100% (1)
- CPE275ADVDocumento497 páginasCPE275ADVCasa das Tracoes100% (1)
- Projeto AgroflorestaDocumento7 páginasProjeto AgroflorestaLucasOliveiraAinda não há avaliações
- Cartilha Conservação Do SoloDocumento12 páginasCartilha Conservação Do SoloFabio MoraisAinda não há avaliações
- Agrofloresta - Reconstruindo Paisagens SustentáveisDocumento24 páginasAgrofloresta - Reconstruindo Paisagens SustentáveisKao SlothropAinda não há avaliações
- 1 FICHA Informativa Agricultura e Pescas 9ºanoDocumento12 páginas1 FICHA Informativa Agricultura e Pescas 9ºanoregina grineAinda não há avaliações
- Cultura de ArrozDocumento14 páginasCultura de ArrozWizandroidmz WizAinda não há avaliações
- A Maravilhosa Cultura Ds BananeirasDocumento7 páginasA Maravilhosa Cultura Ds BananeirasVrohZhell TskAinda não há avaliações
- Coquinho AzedoDocumento33 páginasCoquinho AzedoRones CastroAinda não há avaliações
- Minhocultura e Producao de Humus Na Agricultura FamiliarDocumento12 páginasMinhocultura e Producao de Humus Na Agricultura FamiliarlucivanluttyAinda não há avaliações
- Cultura Do Tomate e RepolhoDocumento13 páginasCultura Do Tomate e RepolhoAlberto JanaceAinda não há avaliações
- Agricultura No CerradoDocumento2 páginasAgricultura No Cerradodani canossaAinda não há avaliações
- Sistemas Agrários e Níveis de DesenvolvimentoDocumento15 páginasSistemas Agrários e Níveis de DesenvolvimentoRogério Maurício Miguel100% (3)
- Apostila Agricultura 2º TrimestreDocumento19 páginasApostila Agricultura 2º TrimestretatianeAinda não há avaliações
- Agropecuárias ExerciciosDocumento3 páginasAgropecuárias Exerciciosleticia vitoria silva lemosAinda não há avaliações
- O Que É ILPFDocumento4 páginasO Que É ILPFCaroline CândidaAinda não há avaliações
- Manejo Da Cultura Do MilhetoDocumento17 páginasManejo Da Cultura Do MilhetoCelio HenriqueAinda não há avaliações
- Palma Forrageira - Cultivo e Utilização Na Alimentação de BovinosDocumento19 páginasPalma Forrageira - Cultivo e Utilização Na Alimentação de BovinosAracele VieiraAinda não há avaliações
- Alternativa de Alimentacao para Caprinos 2002Documento23 páginasAlternativa de Alimentacao para Caprinos 2002Igor MarcellusAinda não há avaliações
- New Documento Do Microsoft WordDocumento14 páginasNew Documento Do Microsoft WordJoão VascoAinda não há avaliações
- Panfleto MilpaDocumento2 páginasPanfleto Milpagraciele tulesAinda não há avaliações
- Sítio CurupiraDocumento91 páginasSítio CurupiraCarlos Henrique Mota GonçalvesAinda não há avaliações
- Laranja PDFDocumento9 páginasLaranja PDFViam prudentiaeAinda não há avaliações
- Fava Danta WEBDocumento41 páginasFava Danta WEBWesley Gomes BezerraAinda não há avaliações
- Sistema de Producao Cultivo Do MilhetoDocumento116 páginasSistema de Producao Cultivo Do Milhetodavidroseneide2020Ainda não há avaliações
- Agrodok 16 AgrossilviculturaDocumento95 páginasAgrodok 16 Agrossilviculturaluizsalgado1Ainda não há avaliações
- Fertirrigação Por Gotejamento e o CacauDocumento6 páginasFertirrigação Por Gotejamento e o CacauThaís LuzAinda não há avaliações
- Cultura Do RamiDocumento22 páginasCultura Do RamiFranco ZéAinda não há avaliações
- Espaço Agrário e Tipos de Agricultura - 071949Documento23 páginasEspaço Agrário e Tipos de Agricultura - 071949wiltonpedro234100% (1)
- Trabalho MangaDocumento15 páginasTrabalho MangaJosias MendesAinda não há avaliações
- Apostila Gramíneas Forrageiras de Clima Temperado e TropicalDocumento95 páginasApostila Gramíneas Forrageiras de Clima Temperado e TropicalStephan Willians100% (1)
- Amendoim ForrageiroDocumento9 páginasAmendoim ForrageiroThalyta ThayannyAinda não há avaliações
- Plano AmbientalDocumento13 páginasPlano AmbientalBreno HeenriqueAinda não há avaliações
- Ebook - Classificação Das AtividadesDocumento9 páginasEbook - Classificação Das AtividadesricardoAinda não há avaliações
- Manejo Da Palma Forrageira PDFDocumento15 páginasManejo Da Palma Forrageira PDFLéo PalharesAinda não há avaliações
- NPR16Documento4 páginasNPR16awanessamarinhoAinda não há avaliações
- Midi A Palma For Rage IraDocumento5 páginasMidi A Palma For Rage Iranatangom17171717Ainda não há avaliações
- PlantioDocumento5 páginasPlantioUllna IdealAinda não há avaliações
- Agrofloresta Na Agricultura FamiliarDocumento11 páginasAgrofloresta Na Agricultura Familiarmarcello quarantiniAinda não há avaliações
- Parte Escrita - CulturasDocumento9 páginasParte Escrita - CulturasWELLINGTON DE ASSUNCÃOAinda não há avaliações
- Sid Documentos 1 Sistema de Producao de Sisal Microregioes Do Curimatau Serido Paraibano e CaririDocumento15 páginasSid Documentos 1 Sistema de Producao de Sisal Microregioes Do Curimatau Serido Paraibano e Caririsalimoabdulsalimo94Ainda não há avaliações
- ICEI Agricultura SintropicaDocumento40 páginasICEI Agricultura SintropicaNazirde CarvalhoAinda não há avaliações
- A Convivência Com o Semiárido Como Estratégia para o Combate À DesertificaçãoDocumento6 páginasA Convivência Com o Semiárido Como Estratégia para o Combate À DesertificaçãoCMEI DE IRAUÇUBAAinda não há avaliações
- Sorgo ForrageiroDocumento12 páginasSorgo ForrageiroRafael Neves da SilvaAinda não há avaliações
- Agricultura e PecuáriaDocumento49 páginasAgricultura e PecuáriaGisela AlvesAinda não há avaliações
- Jatobá Manejo PDFDocumento80 páginasJatobá Manejo PDFAnonymous OdfoTPUAinda não há avaliações
- Trabalho de Agroclima Gabriel FormatadoDocumento15 páginasTrabalho de Agroclima Gabriel FormatadoGabriel Marquez MarquezAinda não há avaliações
- Frutos Do Cerrado Brasileiro: Características Gerais E NutricionaisNo EverandFrutos Do Cerrado Brasileiro: Características Gerais E NutricionaisAinda não há avaliações
- Floresta para SempreDocumento141 páginasFloresta para Sempreapi-3704111Ainda não há avaliações
- Ecologia e Manejos de Cipós Na AmazoniaDocumento141 páginasEcologia e Manejos de Cipós Na Amazoniaapi-3704111Ainda não há avaliações
- Livro - Amazônia-Sustentável - limitantes-e-oportunidades-para-o-desenvolvimento-rural-IMAZONDocumento71 páginasLivro - Amazônia-Sustentável - limitantes-e-oportunidades-para-o-desenvolvimento-rural-IMAZONhysilvaAinda não há avaliações
- Reciclagem de SolventeDocumento6 páginasReciclagem de Solventeapi-3704111Ainda não há avaliações
- Reciclagem de PneusDocumento16 páginasReciclagem de Pneusapi-3704111Ainda não há avaliações
- Cooperativa de Catadores-IntroduçãoDocumento12 páginasCooperativa de Catadores-Introduçãoapi-3704111Ainda não há avaliações
- Passo A Passo Pilha de CompostagemDocumento3 páginasPasso A Passo Pilha de Compostagemapi-3704111Ainda não há avaliações
- Retirada Da Cobertura VegetalDocumento1 páginaRetirada Da Cobertura Vegetalapi-3704111Ainda não há avaliações
- Aula Pratica 2Documento3 páginasAula Pratica 2Ivan Gujamo50% (2)
- Manuais 01Documento237 páginasManuais 01Jeffrey Butler100% (1)
- Lei de Frequência Fisica 2Documento5 páginasLei de Frequência Fisica 2GersonMatsimbe100% (1)
- Acionamento de Motores ElétricosDocumento2 páginasAcionamento de Motores ElétricosÁureo Do Carmo MouraAinda não há avaliações
- RD 026 - 03 - DgeDocumento2 páginasRD 026 - 03 - DgepcelisAinda não há avaliações
- 2 Prova Parana Matematica 1serie ComentadaDocumento19 páginas2 Prova Parana Matematica 1serie Comentadadannieli araujo100% (2)
- Catálogo Itamonte 2020Documento126 páginasCatálogo Itamonte 2020Gustavo Luiz Ferreira SantosAinda não há avaliações
- Codgo de Falhas Painel de Instrumentos Omega 1994Documento2 páginasCodgo de Falhas Painel de Instrumentos Omega 1994Cesa AugustoAinda não há avaliações
- TERMODINÂMICA QUÍMICA APLICADA - AULA - 2 - Conceitos Básicos Da TermodinâmicaDocumento17 páginasTERMODINÂMICA QUÍMICA APLICADA - AULA - 2 - Conceitos Básicos Da TermodinâmicaJamille Silva100% (1)
- Simulado Custos LogisticosDocumento4 páginasSimulado Custos LogisticosEvelyn Katiussia KatiussiaAinda não há avaliações
- Petrobras Carteira - de - Diesel - RPBC PDFDocumento33 páginasPetrobras Carteira - de - Diesel - RPBC PDFAntonio Tadeu MenesesAinda não há avaliações
- PPQ Cap4 Atualizado 2Documento43 páginasPPQ Cap4 Atualizado 2André CasimiroAinda não há avaliações
- Aula 02 Princípios Básicos de QuímicaDocumento13 páginasAula 02 Princípios Básicos de QuímicaIcaro Fonseca De JesusAinda não há avaliações
- Especificação Técnica Sistema de Proteção Com Relé Microprocessado Com Função 50-51 para Fase e Neutro - ET-03Documento18 páginasEspecificação Técnica Sistema de Proteção Com Relé Microprocessado Com Função 50-51 para Fase e Neutro - ET-03Adauto Jose PereiraAinda não há avaliações
- Forca de Tracao em Tratores Devido A Equipamentos AgricolasDocumento4 páginasForca de Tracao em Tratores Devido A Equipamentos AgricolasAndré Luiz NogueiraAinda não há avaliações
- PORTARIA #178, DE 11 DE ABRIL DE 2022 - PORTARIA #178, DE 11 DE ABRIL DE 2022 - DOU - Imprensa NacionalDocumento5 páginasPORTARIA #178, DE 11 DE ABRIL DE 2022 - PORTARIA #178, DE 11 DE ABRIL DE 2022 - DOU - Imprensa NacionalDaniel Jorge Da SilvaAinda não há avaliações
- NBR 5356 - 2007 - Transformadores de Potência - Parte 2 - Aq PDFDocumento27 páginasNBR 5356 - 2007 - Transformadores de Potência - Parte 2 - Aq PDFfabianohyaAinda não há avaliações
- Revista Jubileu 27 Anos CrisopazioDocumento28 páginasRevista Jubileu 27 Anos CrisopaziolhvillaAinda não há avaliações
- 1 UanDocumento38 páginas1 UanIzabella TrapiaAinda não há avaliações
- 02-Prova 2002Documento13 páginas02-Prova 2002João DocilioAinda não há avaliações