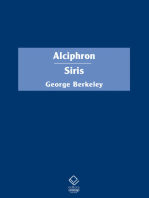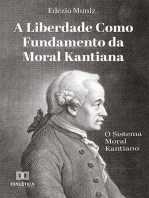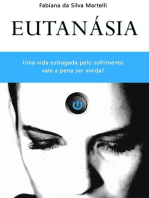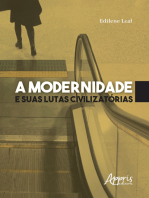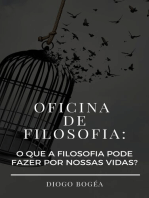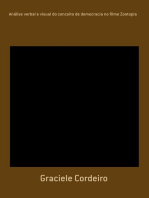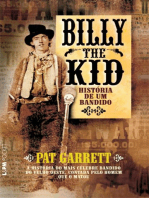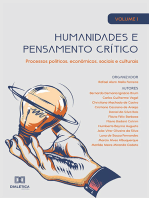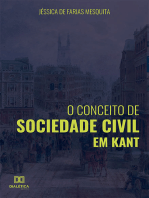Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Acetatos 11
Acetatos 11
Enviado por
Henrique BuenoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Acetatos 11
Acetatos 11
Enviado por
Henrique BuenoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Arte de Pensar 11.
o ano (Didctica Editora)
Captulo 1 Seco 3
ARGUMENTAO E LGICA FORMAL Lgica aristotlica
A lgica aristotlica s reconhece quatro formas lgicas: 1. Universais afirmativas (tipo A): Todo o A B. Exemplos: Todos os homens so mortais; Os homens so mortais; O Homem mortal; S h homens mortais. 2. Universais negativas (tipo E): Nenhum A B. Exemplos: Nenhum homem mortal; No h um nico homem que seja mortal. 3. Particulares afirmativas (tipo I): Algum A B. Exemplos: Alguns homens so mortais; H homens mortais. 4. Particulares negativas (tipo O): Algum A no B. Exemplos: Alguns homens no so mortais; H homens que no so mortais. Na lgica aristotlica s pode usar-se classes que no sejam vazias. Teoria silogstica � O termo maior o termo predicado da concluso e ocorre uma nica vez na primeira premissa (premissa maior). � O termo menor o termo sujeito da concluso e ocorre uma nica vez na segunda premissa (premissa menor). � O termo mdio o termo que surge uma nica vez nas duas premissas mas no na concluso. Regras para Termos Regra 1: Um silogismo tem de ter exactamente trs termos: termo maior, menor e mdio. Regra 2: O termo mdio tem de estar distribudo pelo menos uma vez. Regra 3: Se um termo ocorre distribudo na concluso, tem de estar distribudo nas premissas. Regras para Proposies Regra 4: Nenhuma concluso se segue de duas premissas negativas. Regra 5: Nenhuma concluso se segue de duas premissas particulares. Regra 6: Se as duas premissas forem afirmativas, a concluso no pode ser negativa. Regra 7: A concluso tem de seguir a premissa mais fraca: se uma das premissas negativa, a concluso tem de ser negativa; se uma das premissas particular, a concluso tem de ser particular.
www.didacticaeditora.pt/arte_de_pensar
A Arte de Pensar 11.o ano (Didctica Editora)
Captulo 1 Seco 4
ARGUMENTAO E LGICA FORMAL Lgica proposicional
Cinco conectivas verofuncionais PQ VV VF FV FF P ou Q V V V F PQ PeQ VV VF FV FF P Q Se P, ento Q VV VF FV FF V F V V V F F F P Q P se, e s se, Q VV VF FV FF Inspectores de circunstncias Modus ponens P Q P Q, P � Q VV VF FV FF V F V V V V F F V F V F Modus tollens P Q P Q, Q � P VV VF FV FF V F V V F V F V F F V V V F F V P V F no P F V
Falcia da afirmao da consequente P Q P Q, Q � P VV VF FV FF V F V V V F V F V V F F
Falcia da negao da antecedente P Q P Q, P � Q VV VF FV FF V F V V F F V V F V F V
www.didacticaeditora.pt/arte_de_pensar
A Arte de Pensar 11.o ano (Didctica Editora)
Captulo 2
ARGUMENTAO E RETRICA
A procura de adeso do auditrio
� Uma demonstrao um argumento dedutivo vlido cujas premissas so verdades estabelecidas e indisputveis. � Uma deduo dialctica um argumento dedutivo vlido cujas premissas so plausveis mas no so verdades estabelecidas e indisputveis. � Um argumento bom ou forte um argumento slido cujas premissas so mais plausveis do que a sua concluso. � Um argumento mau ou fraco um argumento que no slido ou cujas premissas no so mais plausveis do que a sua concluso. A fora de um argumento vlido exactamente igual plausibilidade da sua premissa menos plausvel. Argumentar bem implica descobrir bons argumentos a favor de uma ideia baseados em premissas que quem contra essa ideia est disposto a aceitar. � A plausibilidade das proposies relativa ao estado cognitivo dos auditrios. A solidez de um argumento independente do estado cognitivo do auditrio; nem a validade nem a verdade dependem do que as pessoas pensam. Mas a fora ou plausibilidade de um argumento relativa aos estados cognitivos das pessoas: depende do que as pessoas pensam que verdade, aceitvel ou plausvel.
Argumentos e falcias informais
� Num argumento dedutivo vlido impossvel as suas premissas serem verdadeiras e a sua concluso falsa. � Nos argumentos no dedutivos vlidos no impossvel as suas premissas serem verdadeiras e a sua concluso falsa; apenas muito improvvel. � As falcias formais so erros de raciocnio que resultam exclusivamente da forma lgica. � As falcias informais so erros de raciocnio que no resultam exclusivamente da forma lgica.
Estrutura e organizao do discurso argumentativo
1. Distinguir claramente premissas de concluses. 2. Apresentar as ideias numa ordem natural. 3. Partir de premissas plausveis. 4. No devemos usar uma linguagem tendenciosa.
www.didacticaeditora.pt/arte_de_pensar
A Arte de Pensar 11.o ano (Didctica Editora)
Captulo 3
ARGUMENTAO E FILOSOFIA
Filosofia, retrica e democracia
H uma ligao natural entre o nascimento da filosofia e um clima social e poltico que favorecia a discusso pblica de ideias. Contudo, ao longo da histria, tanto a filosofia como as cincias foram cultivadas em regimes contrrios liberdade de estudo e pensamento. � Os especialistas em retrica, os retricos ou retores, eram professores que ensinavam os jovens gregos a discursar em pblico: formavam oradores. Plato e Aristteles acusavam os retricos, a que chamavam sofistas, de desonestidade intelectual. Acusavam-nos de desprezar a razo e a tica, ensinando a manipular a opinio pblica consoante fosse mais conveniente.
Persuaso e manipulao
� Persuadir algum fazer essa pessoa mudar de ideias. � A persuaso irracional ou manipulao um tipo de argumentao que viola a autonomia das pessoas e procura impedi-las de pensar. � A persuaso racional um tipo de argumentao que respeita a autonomia das pessoas e se dirige sua inteligncia. Na persuaso irracional procura-se fechar o debate; por contraste, a persuaso racional um convite ao debate e reflexo. Na persuaso racional argumentamos para chegar verdade das coisas, independentemente de saber quem ganha o debate; na persuaso irracional discute-se para ganhar o debate, independentemente de saber de que lado est a verdade.
Argumentao, verdade e ser
� Se o estudo for livre e as capacidades crticas das pessoas forem estimuladas e bemvindas, os argumentos falaciosos, por mais atraentes que sejam, acabaro por ser denunciados, no processo de avaliao crtica de ideias. � Se o estudo for inicitico, se os estudantes e os professores forem encorajados a seguir Gurus e Mestres, mas no a pensar por si, quaisquer ideias sero aceites como Verdades Absolutas, dado que ningum ter coragem de as criticar por mais que os argumentos que as sustentam sejam maus.
www.didacticaeditora.pt/arte_de_pensar
A Arte de Pensar 11.o ano (Didctica Editora)
Captulo 4
ESTRUTURA DO ACTO DE CONHECER
Que tipos de conhecimento h? Saber-fazer Conhecimento de actividades. Por exemplo: Saber tocar piano. Saber andar de bicicleta. Conhecimento por contacto Conhecimento de pessoas ou locais. Por exemplo: Conhecer Paris. Conhecer Lus Figo. Saber-que Conhecimento de proposies. Por exemplo: Saber que Paris uma cidade. Saber que Aristteles foi um filsofo. O que o conhecimento? � A crena uma condio necessria para o conhecimento. � O conhecimento factivo, ou seja, no se pode conhecer falsidades. � A verdade uma condio necessria para o conhecimento DEFINIO TRADICIONAL DE CONHECIMENTO S sabe que P se, e s se, a. S acredita que P. b. P verdadeira. c. H uma justificao para S acreditar que P. � Objeces: Os contra-exemplos de Gettier. Estes mostram que podemos ter uma justificao para acreditar em algo verdadeiro sem que esse algo seja conhecimento. Quais so as fontes do conhecimento? � Um sujeito sabe que P a priori se, e s se, sabe que P pelo pensamento apenas. � Um sujeito sabe que P a posteriori se, e s se, sabe que P atravs da experincia.
� �
Um argumento a priori se, e s se, todas as suas premissas so a priori. Um argumento a posteriori se, e s se, pelo menos uma das suas premissas for a posteriori.
� Conhecemos algo inferencialmente quando conhecemos atravs de argumentos ou razes. � Conhecemos algo no inferencialmente quando conhecemos directamente (por exemplo, atravs dos sentidos).
www.didacticaeditora.pt/arte_de_pensar
A Arte de Pensar 11.o ano (Didctica Editora)
Captulo 5
ANLISE COMPARATIVA DE DUAS TEORIAS EXPLICATIVAS DO CONHECIMENTO
� Ser que o conhecimento possvel? Este um dos problemas centrais da epistemologia. � Os cpticos consideram que no, argumentando da seguinte maneira: 1. Se h conhecimento, as nossas crenas esto justificadas. 2. Mas as nossas crenas no esto justificadas. 3. Logo, no h conhecimento. � Este argumento vlido e a primeira premissa geralmente aceite como verdadeira. � Se a segunda premissa for verdadeira, ento a concluso tambm ter de o ser. Nesse caso, os cpticos esto certos. � Mas por que razo dizem os cpticos que as nossas crenas no esto justificadas? � H um argumento que os cpticos apresentam precisamente para mostrar isso. o argumento da regresso infinita da justificao: 1. 2. 3. 4. Toda a justificao se infere de outras crenas. Se toda a justificao se infere de outras crenas, ento d-se uma regresso infinita. Se h uma regresso infinita, as nossas crenas no esto justificadas. Logo, as nossas crenas no esto justificadas.
� Este argumento tambm vlido. Mas ser slido? � A primeira premissa diz que justificamos umas crenas a partir de outras crenas. � Mas se assim, diz-se na segunda premissa, o processo de justificao no tem fim, recuando sucessivamente de umas crenas para outras. � Nesse caso, as nossas justificaes sero sempre insuficientes, sugere-se na terceira premissa. � Existir alguma falha no argumento da regresso infinita da justificao ou os cpticos tm mesmo razo? � Fundacionistas e coerentistas acham que os cpticos esto errados, mas por razes opostas.
www.didacticaeditora.pt/arte_de_pensar
A Arte de Pensar 11.o ano (Didctica Editora)
Captulo 6
CONHECIMENTO VULGAR E CONHECIMENTO CIENTFICO
NOES PRVIAS Explanandum: Aquilo que queremos explicar. O explanandum pode consistir numa descrio de um acontecimento particular (por exemplo, este pedao de cobre dilatou) ou numa regularidade geral (por exemplo, o cobre dilata quando aquecido.) Explanans: A informao apresentada para responder ao pedido de explicao. O modelo nomolgico-dedutivo � As explicaes cientficas de acontecimentos so argumentos dedutivamente vlidos cuja concluso o explanandum e cujas premissas so o explanans. � O explanans de uma explicao cientfica indica pelo menos uma regularidade ou lei da natureza e pelo menos uma proposio que descreve condies iniciais. Exemplo: Por que que este pedao de cobre dilatou? 1. Todos os pedaos de cobre que so aquecidos dilatam. 2. Este pedao de cobre foi aquecido. 3. Logo, este pedao de cobre dilatou. 1. Lei da natureza 2. Condio inicial 3. Explanandum
� Explicar um acontecimento mostrar que, em virtude de certas regularidades ou leis da natureza, este tinha de ocorrer dada a realizao de certas condies iniciais. � Explicar uma lei deduzi-la de leis mais gerais. O modelo estatstico-indutivo � Explicar um acontecimento mostrar que, em virtude de certas regularidades ou leis, este tinha uma probabilidade elevada de ocorrer dada a realizao de certas condies iniciais. (Pelo menos uma das regularidades ou leis tem uma carcter estatstico.)
www.didacticaeditora.pt/arte_de_pensar
A Arte de Pensar 11.o ano (Didctica Editora)
Captulo 7
CINCIA E CONSTRUO: VALIDADE E VERIFICABILIDADE DAS HIPTESES
� Uma teoria do mtodo cientfico procura responder s seguintes questes: 1) Qual o ponto de partida das teorias cientficas? 2) Como se chega formulao das teorias cientficas? 3) O que se faz s teorias cientficas depois de terem sido formuladas?
Indutivismo 1. Registo e classificao de factos empricos sem preconceitos tericos. 2. Obteno da teoria por generalizao indutiva. 3. Aplicao da teoria a novos dados empricos tendo em vista a sua confirmao. Objeces ao indutivismo
Falsificacionismo 1. Formulao de um problema. 2. Apresentao da teoria como hiptese ou conjectura. 3. Tentativas de refutao da teoria atravs de testes empricos.
� No possvel registar e classificar factos empricos sem atender a qualquer perspectiva terica. � As leis cientficas que dizem respeito ao inobservvel no podem resultar de simples generalizaes indutivas baseadas na observao. Objeces ao falsificacionismo � Muitas vezes os cientistas trabalham sobretudo com o objectivo de confirmar as teorias e continuam a defend-las mesmo quando as previses empricas delas deduzidas no ocorreram. � No fcil refutar conclusivamente uma teoria. Dado que as previses empricas so deduzidas de um vasto conjunto de hipteses, se estas fracassarem podemos apenas concluir que pelo menos uma dessas hipteses (que pode nem pertencer teoria) falsa.
www.didacticaeditora.pt/arte_de_pensar
A Arte de Pensar 11.o ano (Didctica Editora)
Captulo 8
A RACIONALIDADE CIENTFICA E A QUESTO DA OBJECTIVIDADE
O modelo da evoluo da cincia de Thomas Kuhn � No perodo da pr-cincia vrias escolas rivais discutem incessantemente os fundamentos da disciplina em questo. � Esse perodo termina quando uma teoria bem sucedida institui um paradigma. Elementos de um paradigma Leis e pressupostos tericos fundamentais; Regras para aplicar as leis realidade; Regras para usar instrumentos cientficos; Princpios metafsicos e filosficos; Regras metodolgicas gerais. Exemplos associados ao paradigma newtoniano Lei da Gravitao Universal; Regras para aplicar essa lei a pndulos; Regras para usar telescpios; O mundo uma espcie de grande relgio; No avanar hipteses infundadas.
� Institudo um paradigma, inicia-se um perodo de cincia normal. � A cincia normal uma actividade de resoluo de enigmas, tanto tericos como experimentais, governada pelas leis, regras e princpios do paradigma. � Durante este perodo surgem anomalias. Uma anomalia um enigma, terico ou experimental, que no encontra soluo no mbito do paradigma vigente. � Devido acumulao de anomalias, irrompe uma crise: a confiana num paradigma abalada. � Surge assim um perodo de cincia extraordinria, marcado pela contestao do paradigma e pela procura de alternativas. � Ocorre uma revoluo cientfica quando o paradigma substitudo por um novo paradigma, luz do qual se retoma a actividade da cincia normal. � Os paradigmas so incomensurveis. A incomensurabilidade dos paradigmas a impossibilidade de compar-los objectivamente de maneira a concluir que um melhor do que o outro. � Assim, a cincia no progride em direco verdade.
www.didacticaeditora.pt/arte_de_pensar
A Arte de Pensar 11.o ano (Didctica Editora)
Captulo 9
TICA MDICA: O PROBLEMA DO ABORTO
Muitos defensores da posio pr-escolha, como Michael Tooley, sustentam que o aborto permissvel porque os fetos humanos no possuem o direito moral vida. Os direitos morais segundo Tooley � A tem o direito moral a X significa aproximadamente o seguinte: Se A deseja X, ento partida os outros tm a obrigao de no realizar actos que privem A de X. O argumento de Tooley
1. Se um indivduo possui o direito vida, ento deseja continuar a existir enquanto sujeito de uma vida mental. 2. Se deseja continuar a existir enquanto sujeito de uma vida mental, ento tem um conceito de sujeito com uma vida mental e acredita que ele prprio um sujeito com uma vida mental. 3. Se tem esse conceito e essa crena, ento tem conscincia de si. 4. Logo, se um indivduo possui o direito vida, ento tem conscincia de si. 5. Mas os fetos humanos no tm conscincia de si. 6. Logo, os fetos humanos no possuem o direito vida.
O argumento qualificado � Para evitar resultados absurdos, preciso qualificar a premissa 1 da seguinte maneira: Se um indivduo possui o direito vida, ento deseja continuar a existir enquanto sujeito de uma vida mental ou desejaria continuar a existir caso: a) no estivesse momentaneamente inconsciente ou b) no estivesse psicologicamente perturbado. Objeco ao argumento c) continuasse a desenvolver-se at se tornar consciente de si. � Se acrescentarmos a qualificao c, teremos de concluir que tambm os fetos humanos possuem o direito vida.
www.didacticaeditora.pt/arte_de_pensar
A Arte de Pensar 11.o ano (Didctica Editora)
Captulo 10
A INDUSTRIALIZAO E O IMPACTO AMBIENTAL
Teremos uma obrigao moral para com o meio ambiente? Por exemplo: Ser moralmente aceitvel pr termo ao desenvolvimento industrial dos pases pobres porque isso aumenta os nveis de poluio? � Para responder a este tipo de questes precisamos de respeitar os seguintes requisitos: 1. Possuir a informao emprica relevante. 2. Avaliar criticamente o princpio ou princpios ticos que apoiam as nossas concluses.
NOES PRVIAS AO DEBATE Valor instrumental: Algo tem valor instrumental quando no tem valor em si mesmo mas apenas enquanto meio para atingir um outro fim; por exemplo, o dinheiro tem apenas valor instrumental, pois aquilo que desejamos no o dinheiro em si mesmo mas aquilo que com ele podemos adquirir. Valor intrnseco: Algo tem valor intrnseco quando tem valor em si mesmo, quando desejvel por si mesmo; por exemplo, a nossa felicidade tem valor intrnseco, pois algo que desejamos em si mesma. Trs tipos de ticas ambientais
Numa tica antropocntrica s os seres humanos tm valor intrnseco; isto , s os nossos interesses devem ser levados em considerao na deliberao de polticas ambientais. Numa tica da vida senciente todos os seres sencientes possuem valor intrnseco; devemos levar em considerao o bem-estar e interesses de todos os animais sencientes na deliberao de polticas ambientais. De acordo com a tica da vida todos os seres vivos tm valor intrnseco; devemos levar em considerao todos os seres vivos na deliberao de polticas ambientais.
www.didacticaeditora.pt/arte_de_pensar
A Arte de Pensar 11.o ano (Didctica Editora)
Captulo 11
CLONAGEM HUMANA
Objeces clonagem humana
�
A objeco da identidade: Privar as pessoas de uma identidade prpria um mal. A clonagem privarias as pessoas de uma identidade prpria. Logo, a clonagem um mal. o Uma resposta objeco: A clonagem privaria as pessoas de uma identidade meramente gentica. Mas isso no um mal. Se fosse um mal, a existncia de gmeos idnticos seria indesejvel.
A objeco das relaes familiares: A clonagem humana no deve ser desenvolvida porque dar origem a relaes familiares confusas. o Uma resposta objeco: A clonagem produziria relaes familiares diferentes das habituais, mas isso no seria um mal. A chamada famlia tradicional no o nico um modelo de famlia aceitvel.
A objeco da instrumentalizao: A clonagem humana no deve ser desenvolvida porque aqueles que querem ser clonados tratariam os clones como simples meios para os seus fins. o Uma resposta objeco: improvvel que a clonagem conduza instrumentalizao dos clones .
A objeco da eugenia: A clonagem humana no deve ser desenvolvida porque dar origem eugenia positiva, isto , seleco de indivduos com caractersticas genticas consideradas desejveis. o Uma resposta objeco: No existe uma ligao forte entre a clonagem e a eugenia positiva.
A objeco do apelo natureza: A clonagem humana errada porque consistiria numa forma anti-natural de reproduo. o Uma resposta objeco: A fertilizao in vitro tambm uma forma antinatural de reproduo e, no entanto, moralmente aceitvel.
A objeco dos custos humanos: A clonagem humana no deve ser desenvolvida porque o seu aperfeioamento levaria destruio de vidas humanas e concepo de crianas deficientes. o Uma resposta objeco: Pode-se optar por clonar seres humanos apenas quando, graas s experincias com animais, as tcnicas de clonagem forem suficientemente seguras.
www.didacticaeditora.pt/arte_de_pensar
A Arte de Pensar 11.o ano (Didctica Editora)
Captulo 12
A FILOSOFIA E OS OUTROS SABERES
� Que relao existe entre a filosofia e outros saberes ou actividades culturais, como a cincia, a arte e a religio? � E qual o contributo de cada uma delas para a compreenso da realidade? � H quem defenda que a realidade tanto pode ser encarada de uma perspectiva filosfica como artstica, cientfica ou religiosa e que a verdade depende da perspectiva que se tem. � Assim, para os filsofos a verdade seria uma coisa, para os cientistas outra diferente e o mesmo se passaria em relao s artes e s religies. Esta opinio conhecida como perspectivismo. � O argumento perspectivista o seguinte: 1. A filosofia, a cincia, a arte e a religio, buscam de algum modo a verdade. 2. Mas as verdades da filosofia, da cincia, da arte e da religio no so as mesmas.
3. Logo, a verdade depende da perspectiva (filosfica, cientfica, artstica ou religiosa) a partir da qual a realidade encarada.
� A primeira premissa diz-nos que filosofia, cincia, arte e religio so actividades cognitivas, isto , contribuem para o nosso conhecimento da realidade. Esta premissa plausvel. � A segunda premissa pode ser interpretada de duas maneiras: 1. Trata-se de verdades acerca de coisas diferentes. 2. Trata-se de verdades diferentes acerca das mesmas coisas. � Estas duas interpretaes permitem distinguir dois tipos de perspectivismo: 1. O perspectivismo fraco a ideia de que podemos olhar para diferentes aspectos da realidade e concluir correctamente diferentes verdades. 2. O perspectivismo forte a ideia de que podemos olhar para os mesmos aspectos da realidade e concluir correctamente verdades diferentes e incompatveis. � Ser alguma destas formas de perspectivismo plausvel?
www.didacticaeditora.pt/arte_de_pensar
A Arte de Pensar 11.o ano (Didctica Editora)
Captulo 13
A FILOSOFIA NA CIDADE
A cidadania
� Ser um cidado ser reconhecido como um membro integral e igual da sociedade, com o direito de participar no processo poltico. � As pessoas que so governadas por ditaduras monrquicas ou militares so sbditos e no cidados. Na discusso pblica, o cidado virtuoso no visa a manipulao, mas a persuaso racional. Se todos os cidados de uma democracia visarem a manipulao, a discusso racional ser substituda pela negociao: num debate no ganham as ideias e propostas mais razoveis, mas as ideias e propostas de quem tem maior poder negocial.
Teorias da cidadania
1. A teoria dos direitos sociais baseia-se na ideia de que a melhor maneira de estimular os cidados a participar na vida pblica dar-lhes direitos, em particular direitos sociais. 2. A teoria dos mercados defende que so os mercados, com as suas regras de funcionamento, e no os direitos sociais, que estimulam a cidadania activa. 3. A teoria da sociedade civil defende que nas organizaes voluntrias da sociedade civil (as igrejas, as famlias, as associaes tnicas, os grupos ecologistas, as organizaes de caridade, etc.) que o cidado aprende a cultivar as virtudes fundamentais sem as quais a cidadania activa no possvel. 4. A teoria liberal das virtudes defende que a escola o lugar prprio para cultivar as virtudes fundamentais da cidadania.
www.didacticaeditora.pt/arte_de_pensar
A Arte de Pensar 11.o ano (Didctica Editora)
Captulo 14
A FILOSOFIA E O SENTIDO
Sentido, finalidade e valor
� Uma actividade no tem sentido se no tiver uma finalidade. � A finalidade de uma actividade a razo de ser da actividade. � Uma finalidade ltima no tem outro fim que no ela mesma. � Uma finalidade instrumental algo que se faz porque se tem em vista outra coisa. � Uma actividade tem valor intrnseco se tem valor por si. � Uma actividade tem valor instrumental se tem valor em funo de ser um meio para alcanar o que tem valor por si. Uma dada actividade tem sentido se, e s se, 1) tiver uma finalidade e se 2) essa finalidade tiver valor. � Uma actividade tem sentido subjectivo se tiver sentido para a pessoa em causa. � Uma actividade tem sentido objectivo se tiver sentido sub specie aeternitates. � Uma actividade tem valor subjectivo se tiver valor para a pessoa em causa. � Uma actividade tem valor objectivo se tiver valor sub specie aeternitates.
A tarefa de se ser no mundo
Uma vida com sentido uma vida que cultiva valores objectivos, como os valores ticos, estticos ou cognitivos. Assim, uma vida humana entregue a projectos que procurem acrescentar valor ao mundo uma vida com sentido; uma vida exclusivamente dedicada sua prpria satisfao destituda de sentido.
Finitude e temporalidade
Os valores, intrnsecos ou instrumentais, perdem-se se acabarem por perecer. Podero ter valor subjectivo, mas objectivamente no tm qualquer valor.
www.didacticaeditora.pt/arte_de_pensar
Você também pode gostar
- Logica Sentenças Simples e CompostasDocumento15 páginasLogica Sentenças Simples e CompostasLucas RebouçasAinda não há avaliações
- Exercicio Logica MatematicaDocumento2 páginasExercicio Logica MatematicanenedsAinda não há avaliações
- (Gianni Vattimo) O Fim Da Modernidade PDFDocumento224 páginas(Gianni Vattimo) O Fim Da Modernidade PDFAndré Cansado100% (1)
- Resenha Crítica de O Que É A PsicologiaDocumento4 páginasResenha Crítica de O Que É A PsicologiaJucely RegisAinda não há avaliações
- A Vaidade e o NarcisismoDocumento30 páginasA Vaidade e o NarcisismoLuiz Augusto Costa100% (1)
- A Quinta Da RegaleiraDocumento6 páginasA Quinta Da Regaleiragmfleck2Ainda não há avaliações
- Filosofia vs. Ciência: as atividades filosófica e científica em contraste (ou por que o naturalismo filosófico é uma barbárie)No EverandFilosofia vs. Ciência: as atividades filosófica e científica em contraste (ou por que o naturalismo filosófico é uma barbárie)Ainda não há avaliações
- Lógica AristotélicaDocumento20 páginasLógica AristotélicaJulio Cesar VieiraAinda não há avaliações
- Aula 35 - Logica PDFDocumento70 páginasAula 35 - Logica PDFAndréiaBorbaChiesAinda não há avaliações
- Lógica Proposições e Conectivos LogicoDocumento45 páginasLógica Proposições e Conectivos LogicoErica CatarinaAinda não há avaliações
- Lógica JurídicaDocumento22 páginasLógica JurídicaFátima AlmeidaAinda não há avaliações
- Desafios de LógicaDocumento7 páginasDesafios de LógicaJuliana Cilento100% (1)
- 01 Slides Logica MatematicaDocumento14 páginas01 Slides Logica MatematicaLucas BergamimAinda não há avaliações
- Lógica Formal e InformalDocumento7 páginasLógica Formal e InformaleusoueuscribdAinda não há avaliações
- Uma torção no comunismo: Ontologia, Hermenêutica e Política em VattimoNo EverandUma torção no comunismo: Ontologia, Hermenêutica e Política em VattimoAinda não há avaliações
- Lógica SemânticaDocumento5 páginasLógica SemânticavitutcAinda não há avaliações
- Reflexões sobre a filosofia prática de KantNo EverandReflexões sobre a filosofia prática de KantAinda não há avaliações
- A Liberdade como Fundamento da Moral Kantiana: o Sistema Moral KantianoNo EverandA Liberdade como Fundamento da Moral Kantiana: o Sistema Moral KantianoAinda não há avaliações
- A Nova Retórica e o Ideal Humanista: o filósofo como funcionário da Humanidade segundo Chaïm PerelmanNo EverandA Nova Retórica e o Ideal Humanista: o filósofo como funcionário da Humanidade segundo Chaïm PerelmanAinda não há avaliações
- Um báculo para Hércules :: o papel desonerador da doutrina jurídica nas decisões judiciaisNo EverandUm báculo para Hércules :: o papel desonerador da doutrina jurídica nas decisões judiciaisAinda não há avaliações
- 38942-Lista 01 - Lógica e ConjuntosDocumento3 páginas38942-Lista 01 - Lógica e ConjuntosLeonardo SchunckAinda não há avaliações
- Radicalismo islâmico, agendas geopolíticas ocidentais e OTAN: a aliança que destruiu a Líbia: o inverno líbio sem fimNo EverandRadicalismo islâmico, agendas geopolíticas ocidentais e OTAN: a aliança que destruiu a Líbia: o inverno líbio sem fimAinda não há avaliações
- Por um conhecimento sincero no mundo falso: Teoria crítica, pesquisa social empírica e The Authoritarian PersonalityNo EverandPor um conhecimento sincero no mundo falso: Teoria crítica, pesquisa social empírica e The Authoritarian PersonalityAinda não há avaliações
- A aporofobia e o racismo nas prisões brasileirasNo EverandA aporofobia e o racismo nas prisões brasileirasAinda não há avaliações
- Slide01.Lógica ArgumentativaDocumento193 páginasSlide01.Lógica ArgumentativaJoão Carlos Bemerguy Camerini0% (1)
- Fundamento Fundamentos Lógica Matemáticas Lógica Matemática - Inferência Lógica e Os Sistemas de DerivaçãoDocumento19 páginasFundamento Fundamentos Lógica Matemáticas Lógica Matemática - Inferência Lógica e Os Sistemas de DerivaçãoCleilson PereiraAinda não há avaliações
- A Dedução Transcendental de Kant: Uma Reconstrução a partir de Kemp SmithNo EverandA Dedução Transcendental de Kant: Uma Reconstrução a partir de Kemp SmithAinda não há avaliações
- Ludwik Fleck e o Círculo de Viena: História, Ciência e LinguagemNo EverandLudwik Fleck e o Círculo de Viena: História, Ciência e LinguagemAinda não há avaliações
- Oficina de Filosofia: o que a Filosofia pode fazer por nossas vidas?No EverandOficina de Filosofia: o que a Filosofia pode fazer por nossas vidas?Ainda não há avaliações
- AA Morfologia e LógicaDocumento17 páginasAA Morfologia e Lógicadanilobalzac7100% (1)
- Narrativas de Vida de Antígona (Sófocles), Sor Juana e Olympe de Gouges: a Justiça no divã da Análise do DiscursoNo EverandNarrativas de Vida de Antígona (Sófocles), Sor Juana e Olympe de Gouges: a Justiça no divã da Análise do DiscursoAinda não há avaliações
- Gestão do Ensino Religioso no Brasil: Uma Análise do Gênero OpinativoNo EverandGestão do Ensino Religioso no Brasil: Uma Análise do Gênero OpinativoAinda não há avaliações
- Lógica Simbólica - ConectoresDocumento72 páginasLógica Simbólica - ConectoresJosé Aristides S. Gamito100% (1)
- Política e Ceticismo na Filosofia de Michael OakeshottNo EverandPolítica e Ceticismo na Filosofia de Michael OakeshottAinda não há avaliações
- Negação LogicaDocumento3 páginasNegação LogicaJonatas FreireAinda não há avaliações
- A reabilitação da ética das virtudes na filosofia moral de Alasdair MacIntyreNo EverandA reabilitação da ética das virtudes na filosofia moral de Alasdair MacIntyreAinda não há avaliações
- René DescartesDocumento13 páginasRené DescartesjoaoAinda não há avaliações
- Corrupção política e republicanismo: a perda da liberdade segundo Jean-Jacques RousseauNo EverandCorrupção política e republicanismo: a perda da liberdade segundo Jean-Jacques RousseauAinda não há avaliações
- Kant e a história a priori da filosofia: Os artifícios da reflexão e a ideia do tribunal na Crítica da Razão PuraNo EverandKant e a história a priori da filosofia: Os artifícios da reflexão e a ideia do tribunal na Crítica da Razão PuraAinda não há avaliações
- Análise Verbal E Visual Do Conceito De Democracia No Filme ZootopiaNo EverandAnálise Verbal E Visual Do Conceito De Democracia No Filme ZootopiaAinda não há avaliações
- Humanidades e pensamento crítico: processos políticos, econômicos, sociais e culturais: Volume 1No EverandHumanidades e pensamento crítico: processos políticos, econômicos, sociais e culturais: Volume 1Ainda não há avaliações
- Maquiavel em perspectiva: virtù e fortuna do príncipe novoNo EverandMaquiavel em perspectiva: virtù e fortuna do príncipe novoAinda não há avaliações
- Filosofia da Linguagem e Estudos Literários: um Ensaio InterdisciplinarNo EverandFilosofia da Linguagem e Estudos Literários: um Ensaio InterdisciplinarAinda não há avaliações
- Questoes Resolvidas LogicaDocumento21 páginasQuestoes Resolvidas Logicanonato1100% (1)
- A Europa alemã: A crise do euro e as novas perspectivas de poderNo EverandA Europa alemã: A crise do euro e as novas perspectivas de poderAinda não há avaliações
- Da importancia da Historia Universal Philosophica na esphera dos conhecimentos humanosNo EverandDa importancia da Historia Universal Philosophica na esphera dos conhecimentos humanosAinda não há avaliações
- Humanidades e pensamento crítico: processos políticos, econômicos, sociais e culturais: Volume 3No EverandHumanidades e pensamento crítico: processos políticos, econômicos, sociais e culturais: Volume 3Ainda não há avaliações
- Pedagogia Liberal TradicionalDocumento14 páginasPedagogia Liberal TradicionalAnonymous vhmVzkBAinda não há avaliações
- Samael Aun Weor - AS RESPOSTAS QUE DEU UM LAMADocumento17 páginasSamael Aun Weor - AS RESPOSTAS QUE DEU UM LAMATERENCE100% (2)
- Ética No DesportoDocumento12 páginasÉtica No DesportoDiogo AmaroAinda não há avaliações
- 2 Trabalho Do 1 Grupo Teoria de ParsonsDocumento33 páginas2 Trabalho Do 1 Grupo Teoria de ParsonsPsicologo MugodomaAinda não há avaliações
- Monografia - O Afásico Na Clínica de LinguagemDocumento277 páginasMonografia - O Afásico Na Clínica de LinguagemCassiano AntunesAinda não há avaliações
- Atuais Correntes Da Cristologia CatólicaDocumento15 páginasAtuais Correntes Da Cristologia CatólicaGeorge LimaAinda não há avaliações
- Dialética - PreziDocumento11 páginasDialética - PreziEstherAinda não há avaliações
- A Dignidade Da Pessoa Humana Como Valor Supremo - Afonso Da SilvaDocumento5 páginasA Dignidade Da Pessoa Humana Como Valor Supremo - Afonso Da SilvamariliabfromentAinda não há avaliações
- 16 - ÉticaDocumento9 páginas16 - ÉticaLeandro Rigatti RodriguesAinda não há avaliações
- PiagetDocumento9 páginasPiageterickcavalcantiAinda não há avaliações
- Eden Pascoal - TeologiaDocumento15 páginasEden Pascoal - TeologiahermenegildoAinda não há avaliações
- Lori Lambe A Memória Da LínguaDocumento15 páginasLori Lambe A Memória Da LínguaJoão NuitAinda não há avaliações
- Imagens Mulher Cultura ConteporâneaDocumento260 páginasImagens Mulher Cultura ConteporâneadriminasAinda não há avaliações
- Não Há Cura Sem Anúncio - GabrielRodriguesDocumento186 páginasNão Há Cura Sem Anúncio - GabrielRodriguesGabriel KenzoAinda não há avaliações
- Astros e Arcanos - Desbravando A Mandala Astrológica Com o Tarot Como GuiaDocumento14 páginasAstros e Arcanos - Desbravando A Mandala Astrológica Com o Tarot Como Guiamaga.natural07Ainda não há avaliações
- A Teoria Cognitivista de AusubelDocumento13 páginasA Teoria Cognitivista de AusubelJeronimo Corrêa CollaresAinda não há avaliações
- Resumo Stuart Hall - A Identidade Cultural Na Pós-ModernidadeDocumento5 páginasResumo Stuart Hall - A Identidade Cultural Na Pós-ModernidadeLucas GesteiraAinda não há avaliações
- Artigo Patrimonialismo em Faoro e WeberDocumento41 páginasArtigo Patrimonialismo em Faoro e WeberVanessa GâudioAinda não há avaliações
- Psicanálise. FreudDocumento24 páginasPsicanálise. FreudNatalia Guedes100% (1)
- Antropologia FilosóficaDocumento4 páginasAntropologia FilosóficaGabriel BiuzoAinda não há avaliações
- Sistema Juridico Romanistico e Subsistema Juridico Latino-Americano 1Documento556 páginasSistema Juridico Romanistico e Subsistema Juridico Latino-Americano 1s17fabioAinda não há avaliações
- Para Imprimir Textos Inico de Ano LetivoDocumento7 páginasPara Imprimir Textos Inico de Ano LetivoangelitasobralAinda não há avaliações
- Resumo Texto Sobre o MercantilismoDocumento2 páginasResumo Texto Sobre o MercantilismoRodrigo CoelhoAinda não há avaliações
- Bakhtin - Conceitos-Chave (1º Capítulo)Documento3 páginasBakhtin - Conceitos-Chave (1º Capítulo)Ana Mota100% (1)
- TCC Filosofia Da EducaçaoDocumento25 páginasTCC Filosofia Da EducaçaoDiáconoAntonioMarcosAinda não há avaliações
- Artigo Diagnóstico UrbanoDocumento19 páginasArtigo Diagnóstico UrbanoMariana GarciaAinda não há avaliações