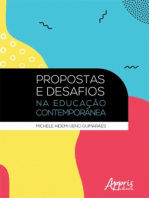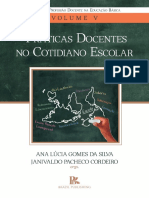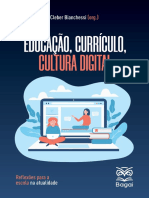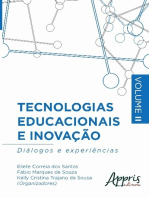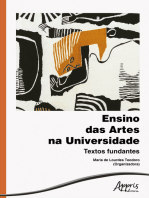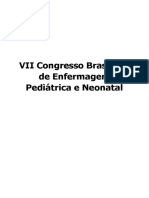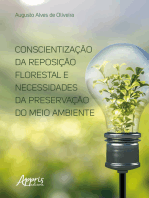Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Ciantec 2008
Ciantec 2008
Enviado por
carolcanta0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
34 visualizações245 páginasTítulo original
6306383-CIANTEC-2008
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
34 visualizações245 páginasCiantec 2008
Ciantec 2008
Enviado por
carolcantaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 245
CIANTEC
SO PAULO
| SET 2008 |
CONGRESSO INTERNACIONAL EM ARTES,
NOVAS TECNOLOGIAS E COMUNICAO
ONTEM, HOJE E AMANH: PLURALIDADE
DE OLHARES EM UM PERCURSO COMUM
ORGANIZAO
PAULO CEZAR BARBOSA MELLO
MAC - MUSEU DE ARTE CONTEMPORNEA - USP
SO PAULO
| SET 2008 |
CONGRESSO INTERNACIONAL EM ARTES,
NOVAS TECNOLOGIAS E COMUNICAO
ONTEM, HOJE E AMANH: PLURALIDADE
DE OLHARES EM UM PERCURSO COMUM
ORGANIZAO
PAULO CEZAR BARBOSA MELLO
MAC - MUSEU DE ARTE CONTEMPORNEA - USP
APOIO
CENTRO HISTRICO MACKENZIE
PROGRAMA DE PS-GRADUAO EM ESTTICA E HISTRIA DA ARTE - USP
PROGRAMA DE PS-GRADUAO EM EDUCAO, ARTE E HISTRIA DA CULTURA - UPM
PROGRAMA DE PS-GRADUAO EM COMUNICAO E ARTES - UA
So Paulo
2008
Projeto Grfico: PMStudium Comunicao e Design
Identidade: PC Mello e Reinaldo Fonseca
Depsito legal - Biblioteca Nacional
ISBN 978-85-7229-045-6
Ficha catalogrfica elaborada pela Biblioteca Lourival Gomes Machado do Museu de Arte Contem-
pornea da USP
Congresso internacional em artes, novas tecnologias e comunicao: ontem, hoje
e amanh : pluralidade de olhares em um percurso comum / organizao Paulo
Cezar Barbosa Mello. So Paulo: Museu de Arte Contempornea USP, 2008.
Xx p. ; il.
1. Arte Tecnolgica. 2. Arte Eletrnica. 3. Comunicao. I. Programa de
Ps-Graduao em Esttica e Histria de Arte USP. II. Programa de Ps-
Graduao em Educao, Arte e Histria da Cultura UPM. III. Programa
de Ps-Graduao do Departamento de Comunicao e Artes UA. IV.
Mello, Paulo Cezar Barbosa.
CDD 700.105
UNIVERSIDADE DE SO PAULO
Reitora // Suely Vilela
Vice-Reitor // Franco Maria Lajolo
Pr-Reitora de Graduao // Selma Garrido Pimenta
Pr-Reitor de Ps-Graduao // Armando Corbani Ferraz
Pr-Reitora de Pesquisa // Mayana Zatz
Pr-Reitor de Cultura e Extenso Universitria // Ruy Altafim
Secretria Geral // Maria Fidela de Lima Navarro
PGEHA
Unidades Envolvidas no Programa de Ps-Graduao Interunidades em Esttica e Histria da Arte
ECA // Diretor Luis Milanesi | Vice-Diretor Mauro Wilton
FFLCH // Diretor Gabriel Cohn | Vice-Diretora Sandra Margarido Nitrini
FAU // Diretor Sylvio Barros Sawaya | Vice-Diretor Marcelo de Andrade Romero
MAC // Diretora Lisbeth Rebollo Gonalves | Vice-Diretora Helouise Costa
Comisso de Ps-Graduao
Membros Docentes // Elza Ajzenberg, Jos Eduardo de Assis Lefvre, Kabengele Munan-
ga, Lisbeth Rebollo Gonalves e Maria Ceclia Loschiavo
Membros Discentes // Antonio Cesrio e Georgia Nomi
CEPIA
Ins Mcia Albuquerque | Paulo Cezar Barbosa Mello | Reinaldo Fonseca
CIANTEC 08
O CIANTEC nasceu do encontro de um grupo de estudos interdisciplinar, com interesses em arte e
comunicao na relao entre a Pennsula Ibrica e a Amrica Latina, o CEPIA. Na primeira edio
houve o encontro de interesses do grupo com o COLABOR, um grupo de estudos orientado pelo
professor Artur Matuck (PGEHA/ECA USP). Nesta segunda edio o CEPIA juntamente com o PGEHA
junta-se ao Mackenzie e Universidade de Aveiro formando novamente um grupo ainda maior de
interesses em comum.
O CIANTEC 08 organizado por:
Ins Mcia Albuquerque (Portugal) +
Paulo Cezar Barbosa Mello (Brasil) +
Reinaldo Fonseca (Brasil) +
Representando as instituies:
Prof. Dr. Elza Ajzemberg PGEHA - USP +
Prof Dr Jane de Almeida PPGEAHC - UPM +
Prof Dr Rosa Oliveira DCA - UA +
COMISSO TCNICA CONSULTIVA:
Prof Ms. Alicia Sanchez (UPM - Br) +
Prof. Dr. Antnio da Costa Valente (DCA UA - Pt) +
Prof Dr Beatriz Lage (ECA USP - Br) +
Prof Dr Carmen Aranha (MAC USP - Br) +
Prof Dr Daisy Peccinini (MAC USP - Br) +
Prof. Dr. Edson Leite (EACH USP - Br) +
Prof Dr Esmeralda Rizzo (CCL UPM - Br) +
Prof Ms. Fernanda Nardy Bellicieri (CCL UPM - Br) +
Prof Dr Glucia Davino (CCL UPM - Br) +
Prof Dr Isabel Azevedo (ARCA - Pt) +
Prof Dr Jane de Almeida (UPM SP - Br) +
Prof. Dr. Jos Pedro Bessa (DCA UA - Pt) +
Prof Dr Katia Canton (MAC USP - Br) +
Prof Dr Marcia Tiburi (UPM - Br) +
Prof Dr Mrian Celeste Martins (UPM - Br) +
Prof. Dr. scar Emanuel Mealha (DCA UA - Pt) +
Prof. Dr. Wilton Azevedo (UPM - Br) +
COMISSO CIENTFICA:
Prof Ms. Alecssandra Matias Oliveira +
Prof Ms. Ana Claudia Pelegrino +
Prof Ms. Ana Luiza de Souza +
Prof Ms. Cassandra de Assis Gonalves +
Prof Ms. Ins Mcia Albuquerque +
Prof. Ms. Lauci Bortoluci +
Prof Ms. Lucy Figueiredo +
Prof Ms. Maria Ins Amarante +
Prof Ms. Maria de Lourdes Tavares +
Prof Ms. Maria Tereza Cordido +
Prof. Ms. Milton Lara +
Prof Ms. Monica Toledo +
Prof Ms. Oriana Maria Duarte de Araujo +
Prof. Ms. Paulo Mello +
Prof. Dr Renata Cristina Ferreira +
Prof Ms. Rogerio Band +
Prof Dr Rosemari Fagas +
Prof Ms. Silvana Karpinsky +
Prof Dr Silvia Barros +
DESENVOLVIMENTO E APOIO:
PMStudium Comunicao e Design +
Agncia Jr Mackenzie +
MESAS DE TRABALHO:
SOCIEDADE, CULTURA E ARTE +
Andrea Considera - CH IPM +
Rosa Pinho de Oliveira - UA +
Maria Isabel Azevedo - UA +
Mari del Mar - UA +
PRODUO E CIRCULAO +
Silvia Barros - Artista e Pesquisadora Sorbonne +
Lucia Leo - PUC SP +
Paula Perissinoto - FILE +
COMUNICAO E NOVAS MDIAS +
Andr Parente - UFRJ +
Jane de Almeida - UPM +
Rosangella Leote - PUC SP +
Artur Matuck - USP +
CIANTEC 08 - ONTEM, HOJE E AMANH: PLURALIDADE DE
OLHARES NUM PERCURSO COMUM.
Congresso Internacional em Arte, Novas Tecnologias e Comunicao - CIANTEC08, a sua segunda
edio que j se assume como um evento de relevo no que tange discusso de pesquisas teri-
cas e prticas no mbito de seu tema: ontem, hoje e amanh: pluralidade de olhares num percurso
comum.
Mantendo a proposta da edio anterior e almejando uma abrangncia ainda maior, vislumbra-se
as possibilidades de um futuro, que comea hoje a ser delineado, fundamental nunca esquecer a
contribuio do que j passou, do que j foi. Assim, no s as propostas para o prximo momento so
importantes, como tudo o que j foi proposto, pensado e criado que so refletidos agora, no momento
contemporneo.
A pluralidade de olhares hoje, mais do que uma realidade, uma necessidade. Reconhecer a existn-
cia de vrias possibilidades sinnimo de abertura e de capacidade para ultrapassar todos os condi-
cionalismos que impem restries inovao, ao pensamento, ao, criatividade e criao.
O caminho de busca e realizao do conhecimento um percurso comum, que atravessa transver-
salmente todas as civilizaes, todas as sociedades, todas as culturas, todas as disciplinas e todos
ns. Ponto de partida da transdisciplinaridade, a comunho na partilha de idias e de conhecimento
garantia de uma evoluo constante.
O CIANTEC08 est aberto participao de todos os interessados, quer sejam estudantes, profes-
sores ou profissionais de qualquer rea de conhecimento. O foco do evento estreita-se no entanto s
rea de Arte, Novas Tecnologias e Comunicao. Para tanto o CIANTEC alia-se sempre a instituies
de igual teor e preocupaes. Nesta edio o CIANTEC enriquecido com os programas de Ps-
Graduao de trs importantes instituies - USP, Mackenzie e Aveiro.
Este livro ento o resultado de um encontro frtil e extremamente rico em idias e contedo.
AGRADECIMENTOS
muito importante lembrar de todas as etapas para a realizao de um encontro como este. Mais
importante porm lembrar com carinho de todos aqueles que efetivamente colaboraram, cobraram,
apoiaram e realizaram o congresso.
A seqncia a seguir no representa grau de importncia mas apenas a evoluo dos contatos. Um
muito obrigado ao grupo de estudos CEPIA - Ins, PC e Reinaldo -, que mesmo na distncia mantive-
ram toda a ordem e empolgao necessrias. Aos queridos amigos e parceiros de empreitadas Dr
Elza Ajzenberg, Dr Rosa Oliveira, Dr Jane de Almeida e Dr. Marcos Rizolli. A toda a Agncia Junior,
que aprendeu e trabalhou sob as condies mais adversas. amiga Andra Considera, que nos
ajudou arduamente junto ao Centro Histrico Mackenzie. A equipe muito especial da coordenao de
Extenso do CCL - Mackenzie. E por fim um obrigado muito especial Professora Esmeralda Rizzo,
que acreditou que tudo daria certo e acabou por investir nesta idia. A todos os outros que por ventura
no apaream aqui listados nosso sincero obrigado, de verdade!
NDICE
MARIO SCHENBERG: CRIAO E INTUIO ................................................................................................................... 25
ALECSANDRA MATIAS DE OLIVEIRA
SOFTWARE STUDIES BRAZIL ...................................................................................................................................... 29
CCERO SILVA
SCHENBERG : O PENSADOR ORIGINAL ......................................................................................................................... 32
ELZA MARIA AJZENBERG
ARTE ALTERNATIVA: NET.ART .................................................................................................................................... 35
INS MCIA DE ALBUQUERQUE
NOVOS MEDIA - INVESTIGAO ARTSTICA ................................................................................................................... 41
MARIA ISABEL AZEVEDO // ROSA MARIA OLIVEIRA
ARTE E TECNOLOGIA: UMA HISTORIA PORVIR ................................................................................................................. 52
PAULA PERISSINOTTO
CRIAO NA REDE: CONTEXTUALIZAES // SISTEMA DE ARTE CONTEMPORNEA: ENTRE O FLNEUR E O HACKER ........................ 55
RICARDO M.S. TORRES
ENCARAR A LUZ: RETRATOS HOLOGRFICOS 3D .......................................................................................................... 59
ROSA MARIA OLIVEIRA // LUIS MIGUEL BERNARDINO
ANALTICA CULTURAL (CULTURAL ANALYTICS) .............................................................................................................. 67
LEV MANOVICH
SOFTWARE STUDIES E A CULTURA DA VISUALIZAO ....................................................................................................... 68
JEREMY DOUGLASS
TRANSBORDER IMMIGRANT TOOL: A MEXICO/U.S. BORDER PUBLIC SAFETY/COMPUTING ARTS RESEARCH PROJECT .................. 68
BRETT STALBAUM
NOVAS MDIAS NA EDUCAO: HISTRIAS EM QUADRINHOS ............................................................................................ 71
ALBERTO RICARDO PESSOA
MANIFESTAES ESTTICO-EXPRESSIVAS: NOVAS COMPETNCIAS EMANCIPATRIAS? ............................................................ 75
BERTA SUSANA ROLA MONTEIRO TEIXEIRA
ARTE, ARQUITETURA E BIOLOGIA; CO-REALISMO NA OBRA DE FREDERICK KIESLER ................................................................ 79
CAROLINE CABRAL ROCHA
A PUBLICIDADE E O TEMPO DO CINEMA ...................................................................................................................... 85
CELSO FIGUEIREDO
A CONECTIVIDADE E A PERCEPO ESTTICA EM UNIVERSOS ORGANIZADOS EM REDE .............................................................. 88
CLADIA NASCIMENTO
CINEMA INTERATIVO: A STIMA ARTE EM TEMPOS DE PS-MODERNIDADE .............................................................................. 95
DENIS PORTO REN // VICENTE GOSCIOLA
ARTE NA REDE: NOVOS TEMPOS, NOVAS MDIAS. ........................................................................................................... 100
ELIANE WEIZMANN // FERNANDO MARINHO // LEOCDIO NETO
PARA ALM DA ARTE: UMA REFLEXO SOBRE GNERO E SEXUALIDADE NA ARTE/EDUCAO. ................................................... 106
ESTEVO FONTOURA
COMPOSIO HIPERMIDITICA, UMA MONTAGEM POLIFNICA ........................................................................................... 112
JOO TOLEDO
GLITCH-ART E O MEIO COMPUTACIONAL ................................................................................................................. 117
JOS CARLOS SILVESTRE FERNANDES
A CONVERGNCIA ENTRE CINEMA E LITERATURA: UMA PROPOSTA DE ANLISE MORFOLGICA DO LONGA-METRAGEM
O LABIRINTO DO FAUNO SOB A PERSPECTIVA DOS CONTOS DE FADAS .............................................................................. 121
JULIANA PELLEGRINI
APROXIMAES ENTRE A PUBLICIDADE FORMAL E INFORMAL: HIBRIDAO E MESTIAGEM COMO FATORES CRIATIVOS ........... 125
LOURDES GABRIELLI
REPRESENTACIONES DE CIUDAD Y CONSTRUCCIN DE ESTTICAS URBANAS: LOS EFECTOS DE LOS MEDIOS
DE COMUNICACIN MASIVOS EN LA PERSPECTIVA INFANTIL, EN BOGOT D.C. .................................................................... 131
MAGDALENA PEUELA URICOECHEA
HIPERMSICA: UMA CONSTRUO SONORA NO-LINEAR ................................................................................................. 146
MRCIO DUARTE
A PLURALIDADE DE OLHARES HOJE, MAIS DO QUE UMA REALIDADE, UMA NECESSIDADE: O
PAPEL DOS MUSEUS DE ARTE NA EDUCAO ............................................................................................................. 151
MARIA DE LOURDES RIOBOM
PROCESSOS DE ALEGORIZAO DA IMAGEM DO CENTENRIO DA IMIGRAO JAPONESA EM UM DESFILE DE ESCOLA DE SAMBA. ..... 156
JOS MAURCIO SILVA // REGINA WILKE // ALEXANDRE HUADY
O MOVIMENTO DO PENSAMENTO NAS TRAMAS DO DIAGRAMA ........................................................................................... 161
MYRNA NASCIMENTO
O MUSEU COMO ESPAO MEDITICO CONTEMPORANEO .............................................................................................. 168
OLVIO GUEDES
IMAGENS DO CORPO AO AVESSO NAS VIDEOINSTALAES. .......................................................................................... 171
REGILENE SARZI RIBEIRO
ITALIAN CITIES: NEW DESIGN AND COLLECTIVE MEMORY ............................................................................................. 177
SONIA MASSARI
DESIGN AND DIALOG STIMULATING INTEGRATIVE COMPETENCES ON INTERACTING CULTURES FOR DESIGN AND SOCIAL INNOVATION ...... 182
TOM BIELING
ARTE, COMPLEXIDADE E A ESTTICA DIGITAL NA ARQUITETURA CONTEMPORNEA .............................................................. 187
WILSON FLORIO
ANLISE DOS DETERMINANTES DA ARTE E DESIGN:EXPRESSES E NECESSIDADES HUMANAS. ................................................. 193
ANA PAULA DOS SANTOS // PATRCIA MARIELY SPONCHIADO // SUZANA FUNK
A INVESTIGAO DA LINGUAGEM URBANA: EXPRESSES VISUAIS ESPONTNEAS .................................................................... 194
ANDRA DE S. ALMEIDA, // RITA DE CSSIA ALVES OLIVEIRA,
A MODIFICAO DE JOGOS ELETRNICOS POR PARTE DE SEUS USURIOS: DE EXPERIMENTAES ARTSTICAS AO POLTICA ...... 197
ANDREI R. THOMAZ
FABRICAO DIGITAL DE MAQUETES FSICAS: O USO DE CORTADORA A LASER .................................................................... 199
ANA TAGLIARI // WILSON FLRIO,
SUJEITOS NO ESPAO GLOBAL E LOCAL ................................................................................................................. 204
DINA MARIA MARTINS FERREIRA
A MSICA E A TECNOLOGIA PARA UM BANCO DE DADOS MUSICAL .................................................................................... 207
EDWIN PITRE-VSQUEZ
O DADO PREGA UMA PEA NA DIVULGAO CIENTFICA .................................................................................................. 209
ELENISE DE ANDRADE // SUSANA DIAS // CAROLINA CANTARINO // ALIK WUNDER // THIAGO LA TORRE // GUSTAVO TORRE-
ZAN // FERNANDA PESTANA // CAROLINA RAMKRAPES // SHEYLA MACEDO // HARLEY TONIETE // CARLOS VOGT
GALERIA VIRTUAL: UM PROJECTO PARA O SCULO XXI ................................................................................................. 214
INS MCIA DE ALBUQUERQUE // RICARDO M.S. TORRES
ERA POTICA: UMA VISO DA ARTE E DAS NOVAS LINGUAGENS NO SCULO XXI. ................................................................. 216
ISABEL VICTORIA GALLEGUILLOS JUNGK
O DESENHO: PROCESSO DE CRIAO E PRTICA COMUNICATIVA. ..................................................................................... 221
ISABEL ORESTES SILVEIRA
A TECNOLOGIA EM PROL DA EDUCAO CINEMA AMBIENTAL COMO FERRAMENTA DE CONSCIENTIZAO DO PBLICO UNIVERSITRIO ....... 223
ISMAEL DE LIMA JUNIOR // MARY HEBLING DE LIMA
PERCEPO DIGITAL E MEDIAES ............................................................................................................................ 227
JOO CSAR LOPES TOLEDO FILHO // PAULA CRISTINA VENEROSO
CORPO, HOMEOPATIA E VIDEOARTE ........................................................................................................................... 229
JULIANA ALVARENGA FREITAS
CARACTERSTICAS DE INTERAO E INTERATIVIDADE PARA ARTE TECNOLGICA .................................................................. 233
LIGIA CAPOBIANCO
GRUPO KVHR: UMA HISTRIA ESCRITA A QUATRO MOS ............................................................................................. 235
MARCELO GUIMARES
A PINTURA FRANCISCANA DOS SCULOS XVIII E XIX NA CIDADE DE SO PAULO: FONTES E MENTALIDADE. ......................... 237
MARIA LUCIA BIGHETTI FIORAVANTI
A TECNOLOGIA NO ENSINO DE ARQUITETURA ............................................................................................................... 241
NIERI SOARES DE ARAUJO // WILSON FLRIO
O CRESCIMENTO DA PROPAGANDA NAS REDES SOCIAIS. ................................................................................................. 245
PAULA RENATA CAMARGO JESUS // GIOVANNA CAPPOMACIO
DA LIBERDADE, PROBABILIDADE E NECESSIDADE: O APARELHO E SUAS POSSIBILIDADES. ........................................................ 247
RAPHAEL DALLANESE DURANTE
SOCIEDADE CULTURA E ARTE .................................................................................................................................. 250
REGINA CLIA FARIA AMARO GIORA
A AULA DE ARTE COMO ESPAO DE ENCONTRO E CONSTRUO HUMANA:O QUE ENSINAM OS MESTRES ARTESOS DO BARRO? ..... 254
SUMAYA MATTAR MORAES
CI ANTEC
// 25 //
MARIO SCHENBERG: CRIAO E INTUIO
ALECSANDRA MATIAS DE OLIVEIRA - GRADUAO EM HISTRIA PELA FACULDADE DE
FILOSOFIA, LETRAS E CINCIAS HUMANAS (1995) E MESTRADO EM CINCIAS DA COMUNICAO
PELA UNIVERSIDADE DE SO PAULO (2003). DOUTORANDA EM ARTES PELA UNIVERSIDADE DE
SO PAULO (2006). ATUALMENTE ESPECIALISTA EM COOPERAO E EXTENSO UNIVERSIT-
RIA DO MUSEU DE ARTE CONTEMPORNEA DA UNIVERSIDADE DE SO PAULO. TEM EXPERINCIA
NA REA DE ARTES. ATUANDO PRINCIPALMENTE NOS SEGUINTES TEMAS: ARTE, HISTRIA, HIS-
TRIA DA ARTE E CRTICA DE ARTE.
O fsico e crtico de arte Mario Schenberg reconhecia o valor da normatizao racional, mas con-
siderava de alta relevncia o elemento intuitivo na descoberta cientfica e na criao artstica. Em
seu modo de pensar, o verdadeiro cientista era aquele que sabia levar avante suas interrogaes,
intuies e fantasias,
1
ao passo que o artista era dotado de uma sensibilidade extraordinria e
poderia ver e criar coisas que outros no poderiam.
2
Todas essas aptides integravam seu con-
ceito de intuio, pois incluam aspectos, geralmente fora do domnio da racionalizao, como,
por exemplo, narrativas mticas, imaginao e fantasia os quais foram banidos pela Histria do
Conhecimento Ocidental, pois foram considerados prejudiciais ao discernimento do real, pelo
Iluminismo e outras correntes filosficas.
3
Schenberg, em muitos momentos, demonstrou que teorias fundamentais da Fsica tiveram origem
em prticas supersticiosas.
4
Muitas vezes afirmou que: No sabemos de onde elas [idias]
vm; dizemos que grandes gnios tm intuies.
5
Destacava, ainda, que o conhecimento cient-
fico era anterior ao tecnolgico, enfatizando o primeiro como uma vertente oriental; o conceito de
campo de origem chinesa
6
; a idia de mquina a vapor j existia na Grcia
7
; na ndia, existia a
crena na criao e destruio do Universo
8
; indianos e gregos possuam idia do tempo como
algo cclico
9
; o tempo linear de origem iraniana (judeus e cristos)
10
.
Deste modo, certos conceitos da fsica moderna tiveram sua primeira manifestao em astrolo-
gias, cosmologias ou religies; at mesmo os autores no sabiam explicar de onde vinham essas
idias
11
, por no serem totalmente resultado de experimentaes realizadas por intermdio da
observao das leis naturais. s vezes, eram afirmaes que ainda no poderiam ser compro-
vadas ou argumentadas por uma vertente racional. Seria importante chamar a ateno, nesse
momento, para a concepo de Histria da Cincia elaborada por Schenberg, na qual ocorria
um processo sucessivo de continuidades e rupturas (como no movimento em zig-zag), pois idias
intudas em tempos antigos tornaram-se pressupostos para descobertas significativas da cincia
1 Mari o Schenberg. Entrevi sta: Revi sta CEPAM, So Paul o, v. 2, j an/mar. 1991.
2 SCHENBERG, Mari o. Pensando a f si ca... op. ci t., p. 51.
3 O Il umi ni smo, no scul o XVIII, tomou o radi cal i smo raci onal como o ni co di scurso capaz de expl i car os fenmenos
naturai s sem nenhuma meno ao di vi no, escapando dos embates rel i gi osos poca e propagando um conheci mento
uni versal . GLEISER, Marcel o. A dana do uni verso, So Paul o: Ci a das Letras, 1999, p. 193.
4 Assi m, se formos procurar a ori gem de mui tas i di as fundamentai s da F si ca, veremos que essa ori gem rel aci ona-se
freqentemente com prti cas que a ci nci a oci dental tendeu a consi derar como supersti ci osa. SCHENBERG, Mari o. Pen-
sando a f si ca... op. ci t., p. 21.
5 Idem, p. 22.
6 Idem, p. 88.
7 Idem, p. 35.
8 Idem, p. 21.
9 Idem, p. 36.
10 Idem, p. 36.
11 Idem, p. 22 e 23.
CI ANTEC
// 26 //
moderna.
12
Nos estudos sobre Isaac Newton, o fsico Mario Schenberg observou aspectos intuitivos. Newton,
no sculo XVIII, foi considerado precursor do raciocnio quantitativo que por sua vez foi tomado
como prerrogativa bsica do discurso cientfico. Essa prerrogativa foi tomada como pressuposto
conceitual de todas as reas do conhecimento, incluindo a poltica, a histrica, a social e a moral.
13
Todavia, a metodologia newtoniana no era constituda somente pelo raciocnio quantitativo. Era,
sobretudo, dotada de um saber metafsico dedicado aos estudos em alquimia, teologia, fsica e
matemtica. Era a esse Newton mais humanizado e intuitivo que Schenberg estava se referindo,
quando citou o valor da intuio e da metafsica nas descobertas da cincia moderna.
14
Ainda sobre Newton, duas de suas maiores descobertas a segunda lei da Mecnica e a Lei da
Gravitao Universal foram muito influenciadas pela tradio hermtica. Fontes indicaram que
Newton copiou, de prprio punho, diversos tratados da Antigidade, onde constaria a ocorrncia
de uma teoria sobre simpatias e antipatias existentes entre os elementos. Seu interesse transfor-
mou esse conceito de simpatias e antipatias (amor e dio) em atraes e repulses, surgindo,
da, a idia de atrao universal (a fora atrativa entre corpos).
15
Neste ponto, no se pode perder
de vista que, anteriormente, os filsofos pr-socrticos j possuam o mesmo conceito.
Para Mario Schenberg ocorria uma duplicidade entre as obras de Newton e Einstein, pois algu-
mas descobertas do segundo j tinham sido pressentidas pelo primeiro. Newton intuiu postu-
lados que mais tarde seriam tratados por Einstein, demonstrando, dessa forma, a capacidade
intuitiva da pesquisa cientfica, que se alimentaria de idias nascidas intuitivamente e depois
desenvolvidas, at atingirem uma base de comprovao. Os mtodos cientficos adotados por
Einstein sublinharam os significados das qualidades imaginativas e chegaram mesmo a confir-
mar que o desenvolvimento de uma grande teoria cientfica poderia estar sustentado, s vezes,
na Metafsica. Na avaliao de Schenberg, a formulao da teoria atmica era um grande exem-
plo da influncia da Metafsica nas descobertas cientficas.
Ele dizia:
a teoria atmica dos gregos no era uma teoria cientfica, mas metafsica.
Dois mil anos depois, essa teoria metafsica que se torna base da cincia
ocidental. A metafsica que foi erradamente subestimada no Ocidente s
agora est sendo reconsiderada, porque ela pode estar ligada faculdade
intuitiva.
16
A interao entre cincias e fatores metafsicos continuou ocupando a ateno de Schenberg.
Nos estudos junguianos observou a alquimia ligada psicologia e fsica. Seguindo o mesmo
12 Idem, p. 22 e 29. mui to i nteressante e esti mul ante estudar como certas i di as da ci nci a moderna se l i gam a pensa-
mentos anti q ssi mos, o que mostra que h uma certa conti nui dade na hi stri a do pensamento humano. Idem, p. 29.
13 GLEISER, Marcel o. A dana do uni verso ... op. ci t., p. 164.
14 Newton vi a o Uni verso como mani festao do poder i nfi ni to de Deus. No exagero di zer que sua vi da foi uma l onga
busca de Deus, uma l onga busca de uma comunho com a Intel i gnci a Di vi na, que Newton acredi tava dotar o Uni verso com
sua bel eza e ordem. Sua ci nci a foi um produto dessa crena, uma expresso de seu mi sti ci smo raci onal , uma ponte entre
o humano e o di vi no. Idem, p. 164.
15 SCHENBERG, Mari o. Pensando a f si ca ... op. ci t., e GOLDFARB, Jos Lui z. Mi to e Razo em Schenberg. AJZENBERG,
El za. (org.). Schenberg Arte e Ci nci a: Mi to e Razo... op. ci t., p. 82 e segui ntes. Sobre os estudos metaf si cos na obra
de Newton ver: Betty J. T. Dobbs. The Foundatons of Newton s Al chemy or The Hunti ng of the Greene Lyon, Cambri ge
Uni versi ty Press, New York, 1984.
16 SCHENBERG, Mari o. Pensando a f si ca ... op. ci t., p. 22 e 23.
CI ANTEC
// 27 //
caminho da mecnica quntica (unindo qumica e fsica), cientistas como Carl Jung e Wolfgang
Pauli trocaram informaes tentando estabelecer conexes entre a psicologia e a fsica: o elo estava
concentrado na alquimia chinesa.
17
Para estes dois cientistas, a fsica e a psicologia possuam o
mesmo arcabouo de conhecimentos, somente diversificando as linguagens, como se fossem faces
de uma mesma realidade.
18
Outro exemplo significativo para reflexo do papel da intuio, foi o encontro de Schenberg com
Ivanenko em Moscou, ambos retornavam de um congresso sobre Filosofia da Cincia. Naquela
ocasio, Schenberg soube que Ivanenko e Heisenberg tinham relido o Timeu, de Plato, e que
ambos tinham observado que ali existia qualquer coisa como o germe do princpio da incerteza,
do prprio Heinsenberg.
A intuio humana pode voar muito mais longe do que o raciocnio. Quem poderia pensar que
Plato fosse ter, h milhares de anos, alguma idia sobre o princpio da incerteza?
19
Schenberg destacou, ainda, a matemtica como uma poesia com ritmos e mtricas; onde o mate-
mtico precisaria possuir um pensamento criativo, envolvendo lgica, desenvolvimento, soluo
e demonstrao do objeto de pesquisa. A anlise sobre aspectos intuitivos na elaborao da Ci-
ncia, principalmente a matemtica, levaram-no a enfatizar a obra do matemtico Henri Poincar,
na qual era possvel encontrar uma discusso sobre idias de paranormalidade e de criao em
matemtica discutidas proximamente nesta pesquisa.
Esses conceitos da fsica desenvolvidos por Schenberg no eram completamente aceitos pela
comunidade cientfica brasileira havia muita resistncia em aceitar conceitos intuitivos, meta-
fsicos ou paranormais em cincias. Fsicos como Jos Goldemberg, apresentavam oposies
a essas idias. Para Goldemberg, as inovaes cientficas decorrentes da filosofia grega ou da
chinesa no foram to fundamentais assim e, se prestavam bem ao desenvolvimento de teorias,
mas morrem pelo fio da espada da experincia.
20
Essa oposio comprovou que Schenberg
como fsico terico desenvolveu uma teoria sobre o conhecimento cientfico que no encontrava
respaldo em outros estudiosos da mesma rea. Os fatores pessoais (suas concepes e crenas)
constavam na elaborao de sua narrativa da Histria da Cincia, tornando-a particular e, a partir
da, a relativizao de suas opinies seria uma atividade vlida - vendo-as como elementos a
mais no sistema comunicacional do crtico de arte.
A capacidade intuitiva da criao e da descoberta cientfica era, no seu sistema de pensamento,
semelhante capacidade artstica de criar, pois assim como o artista que olha para o rosto de
uma pessoa e v coisas que os outros no vem, o fsico tambm faz.
21
Para Schenberg, tratava-
17 Jung e Paul i buscam por mai s de uma dcada de correspondnci a uma l i nguagem comum entre suas ci nci as. Um
di l ogo entre a nova f si ca qunti ca que se abre dual i dade onda-part cul a e admi te a i nterfernci a entre o observador e o
obj eto observado, e a psi col ogi a anal ti ca j ungueana que retoma os arquti pos e a si ncroni ci dade. GOLDFARB, Jos Lui z.
Mi to e Razo em Schenberg. AJZENBERG, El za. (org.). Schenberg Arte e Ci nci a: Mi to e Razo... op. ci t., p. 83.
18 SCHENBERG, Mari o. Pensando a f si ca ... op. ci t., p. 27 e segui ntes.
19 Mari o Schenberg: ci enti sta, pol ti co, mi l i tante. O Estado de S. Paul o, 10 dez.1978.
20 O fato de que Ari sttel es e os demai s fi l sofos gregos no estabel eceram nem a l ei da i nrci a mostra a pobreza de
sua percepo dos fenmenos da mecni ca. O mesmo se apl i ca s consi deraes sobre a vi so pouco determi ni sta dos
chi neses em contraparti da vi so oci dental : a pri mei ra em que o concei to de causa e efei to no desempenha grande pa-
pel bem mai s consi stente com a mecni ca qunti ca, enquanto a segunda mui to l i gada vi so mecani ci sta da F si ca.
GOLDEMBERG, Jos. Schenberg e os concei tos da F si ca. Supl emento Cul tural . O Estado de S. Paul o, So Paul o, 9 de set.
1984.
21 Mari o Schenberg: A F si ca uma arte. Revi sta Ci nci a Hoj e, So Paul o, v. 13, Insti tuto de F si ca da Uni versi dade de So
Paul o IF USP, sd., p. 100.
CI ANTEC
// 28 //
se do mesmo exerccio mental sem nenhuma distino, exceto quanto ao produto dos processos
de criao.
Em entrevista para a Revista CEPAM, afirmou que a intuio um elemento preponderante dentro
da pesquisa cientfica.
O que um grande fsico? No o sujeito que sabe mais fsica que o outro, mas o que tem mais
imaginao. muito freqente um cientista apresentar uma teoria, que lhe parece importante e
interessante, e ter de esperar 30, 40 anos para v-la reconhecida e aplicada.
22
Schenberg chamou ateno para a percepo dos cientistas. Afirmou que alguns deles possuam
uma percepo dos processos inconscientes, atravs, por exemplo, dos sonhos. Esta percepo
aconteceria de modo semelhante com artistas e poetas, ou seja, para ele, estas pessoas teriam a
capacidade de viso alm da realidade vivenciada.
Era comum encontrar em suas observaes que a intuio aguada era uma caracterstica t-
pica dos gnios, os quais podem perceber coisas alm do seu tempo e de suas experincias
pessoais, conseguindo chegar a solues e equaes verdicas, mesmo passando por erros de
clculos ou no conseguindo provar experimentalmente suas idias.
Um dos seus trabalhos cientficos, o Efeito Urca uma importante descoberta em Fsica Te-
rica, na dcada de 1940 de certa forma tambm possuiu seu aspecto intuitivo, uma vez que
todos os clculos e a existncia do neutrino, poca, no passavam de idias sem fundamentos
experimentais eram somente clculos e teorias; somente na dcada de 1980 a existncia do
neutrino foi comprovada experimentalmente. Sem dvida, na tica de Schenberg, o raciocnio
era um exerccio mental significativo. Mas, no seu entendimento, primeiro o indivduo concebia
as idias sem nenhuma base de comprovao e depois desenvolvia os mecanismos racionais
para comprovar sua tese.
23
A primeira intuio sobre o assunto era o ponto de partida das inves-
tigaes cientficas.
Para Schenberg, o primado do raciocnio sofreu uma permanente alterao, durante o sculo XX
a crescente mecanizao e racionalizao das relaes e do prprio homem, gradualmente,
perdeu espao para o ser humano mais preocupado com aspectos espirituais e metafsicos de
seu cotidiano.
24
Na produo crtica de Schenberg ocorreu o intenso apoio aos movimentos de
vanguardas artsticas, no pas. Para ele, a multiplicidade das propostas inovadoras e a variedade
22 Vej am o caso do l aser, por exempl o, dezenas de anos atrs, crei o que em 1917, Ei nstei n, com base em cl cul os pura-
mente teri cos, fal ou sobre a emi sso esti mul ada da l uz. Poi s bem: s cerca de 50 anos depoi s que o rai o l aser se tornou
uma real i dade prti ca. Schenberg: o brasi l ei ro que anunci ou a morte das estrel as. Revi sta CEPAM, So Paul o: Ano II, j an/
mar.1991.
23 Em suas pal avras, a pessoa bol a uma certa coi sa e depoi s que desenvol ve aqui l o raci onal mente, ou sej a, prova o
que bol ou. No s na ci nci a que a i ntui o tem esse pri mado. Na mesma entrevi sta Schenberg destaca, ai nda: todos
os grandes matemti cos dei xam um certo nmero de teoremas formul ados mas no demonstrados. S mui to tempo depoi s
que se consegue demonstr-l os com base nos novos recursos advi ndos do desenvol vi mento da Matemti ca. Como ento
os grandes matemti cos chegam a esses teoremas? No pode ser pel o raci oc ni o, poi s, nesse caso, consegui ram tambm
fazer a demonstrao. El es vem o teorema. Qual quer um, mesmo que no sej a um grande matemti co, sabe que i sso
ocorre. Essa uma facul dade si ntti ca, no anal ti ca. Revi sta CEPAM, So Paul o: Ano II, j an/mar.1991
24 como se a tecnol ogi a j no fosse to efi ci ente como ti nha si do antes. El a no deci de as questes fundamentai s.
Eu acho que i sso mui to l gi co. O grande erro do Oci dente consi ste em no v-l o. porque o Oci dente acredi ta mui ta na
mqui na e pouco no homem, no ? Ora, i sso um absurdo l gi co, porque o homem no penso que deva ser consi dera-
do como uma mqui na, mas mesmo que se quei ra consi derar o homem uma mqui na -, como uma mqui na, mui to mai s
aperfei oado do que qual quer dessas mqui nas (...) o Oci dente tem a i mpresso contrri a, a de val ori zar mui to o homem,
mas na real i dade no val ori za; pode val ori zar senti mental mente, mas no val ori za l ogi camente, quer di zer, no compreende
toda a possi bi l i dade humana (...). GOLDFARB, Jos Lui z. Voar tambm com os homens... op. ci t., p. 121.
CI ANTEC
// 29 //
de manifestaes estticas derivam de uma atitude humana bsica que as determina, podendo ser
resumida como um anseio de exprimir e comunicar uma experincia do mundo e da vida que vai
alm das impresses sensoriais e das emocionais ordinrias, assim como do racionalismo e da
religio tradicionais.
25
Em sua viso esttica, o principal destaque, naquele momento de emergncia de vanguardas, era
a ocorrncia de um paralelismo na criao contempornea, nos campos da Cincia e da Arte
26
.
Esse paralelo de criao era percebido no fato da Arte tambm se servir de materiais e conquis-
tas tecnolgicas alcanadas e desenvolvidas pela Cincia, assim como tambm tanto no campo
cientfico como no artstico se percebia a necessidade de mudanas, as quais eram transmitidas
atravs dos primeiros artistas de vanguarda e de uma nova atitude dos cientistas. Isso sem contar
os aspectos intuitivos e sensoriais que atingiam os dois campos.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
AGUILAR, Jos Roberto. O mundo de Mario Schenberg, So Paulo, Casa das Rosas, 1997.
AJZENBERG, Elza (coord.) Arte e Cincia., So Paulo, ECA USP, (Schenberg, 4), 1996.
GOLDFARB, Jos Luiz e GUINSBURG, Gita K. (org.). Mario Schenberg: Entre-vistas. So Paulo, Perspectiva,
1984.
GOLDFARB, Jos Luiz. Dilogos com Mario Schenberg. So Paulo, Nova Stella, 1988.
GOLDFARB, Jos Luiz. Voar tambm com os homens: O pensamento de Mario Schenberg. So Paulo,
EDUSP, 1994.
ZANINI, Walter. A Arte no Brasil nas dcadas de 1930-40: o Grupo Santa Helena, So Paulo: Nobel/EDUSP,
1990.
SOFTWARE STUDIES BRAZIL
CCERO SILVA - PESQUISADOR ASSOCIADO AO CENTER FOR RESEARCH IN COMPUTING AND
THE ARTS (CRCA) DA UNIVERSIDADE DA CALIFRNIA EM SAN DIEGO (UCSD) E COORDE-
NADOR DO GRUPO DE SOFTWARE STUDIES NO BRASIL. WEB: WWW.CICEROSILVA.COM E WWW.
SOFTWARESTUDIES.COM.BR .
This presentation is to announce that the Software Studies Initiavie will have a Laboratory in So
Paulo, Brazil to develop its researches and also host meetings, seminars and symposiums.
The Initiative will be hosted in So Paulo at FILE Labo, a Laboratory from the FILE Festival.
For nine years FILE the Electronic Language International Festival has been exhibiting a multiplici-
ty of national and international events on electronic arts and enhancing debates willing to produce,
develop and promote the digital culture.
25 AJZENBERG, El za. Schenberg e a cr ti ca de arte. In: AJZENBERG, El za (org.) Schenberg: Arte e Ci nci a... op. ci t., p.
53-65
26 H um paral el i smo mui to i nstruti vo entre a cri ao contempornea nos campos da ci nci a e da arte, sobretudo nas
ci nci as como a F si ca, que sofreram transformaes revol uci onri as. Mari o Schenberg A Representao Brasi l ei ra na IX
Bi enal de So Paul o. In: SCHENBERG, Mari o. Pensando a arte... op. ci t., p. 194.
CI ANTEC
// 30 //
For the last couple years FILE has expanded its events to other Brazilian cities: FILE Porto Alegre and FILE
Rio. In 2008 FILE hosted exhibitions and symposiums in So Paulo, Porto Alegre and Rio de Janeiro.
WHY FILE LABO
The mission of FILE Labo is the development, research and experimentation of multidisciplinary
works in the fields of new media, Open Source, Performance and art and technology. It offers an
environment of multidisciplinary researches and creators in a platform of free collaboration among
national and international artists, programmers, scientists and researchers. FILE Labos infrastruc-
ture was designed to hold projects in Art & Technology.
FILE-Labo has as its aim the cultural and technological exchange, offering residencies and inter-
changes among National and Internacional communities, inserting its production into a global-
ized context of research and development, compatible with the contemporary software studies
mentality.
PLANS FOR SOFTWARE STUDIES IN SO PAULO
Monthly meetings with seminars and research presentations from Brazilian and +
International members of the group using teleconference
Biennial workshop @ FILE Labo, starting in 2010 +
OBJECTIVES:
the development of researches and features (softwares) to analyse the impact +
of the culture of software in Brazil.
Create a network of software studies in Brazil with Academic Institutions, Re- +
search Centers and Research Governmental Agencies, such as CAPES, CNPQ,
FINEP
Fellowships for researchers and artists (housing included) +
I am going to tell you about two initial projects to be developed at the Laboratory along with SW
Studies:
First - METABROWSER
This project has been developed by me a visualization system and a non-hierarquic server for
the web.
It is based on Ted Nelsons ZigZag project and will be finalized @ the Software Studies Initiative
in So Paulo, Brazil.
Second - A CULTURAL ANALYSIS OF THE OPEN SOURCE IN BRAZIL
Show www.cultura.gov.br
The Brazilian government is using Open Source tools to administrate and develop its systems.
The impact of the Creative Commons in the development of a new copyright in Brazil
The Creative Commons in Brazil has a strong partnership with some law schools and professors and
CI ANTEC
// 31 //
nowadays they are lecturing for judges of the Supreme Court of Rio de Janeiro about the copyright
laws and how Creative Commons can be a tool for new model for copyrights and also, the Ministry
of Culture has a strong agenda towards a Creative Commons regulation of the Brazilian cultural and
artistic copyrights.
PEOPLE
Cicero Silva - Coordinator (Software Studies Brazil) +
Lev Manovich: Director, Software Studies @ UCSD; Professor, Visual Arts +
Noah Wardrip-Fruin: Associate Director, Software Studies @UCSD; Assistant Pro- +
fessor, Communication
Jeremy Douglass: Postdoctoral Researcher, Software Studies @ UCSD +
Helena Bristow: Program Manager, Software Studies @ UCSD; MSO, CRCA +
Academic participants, ucsd
Sheldon Brown: Professor, Visual Arts; Director, CRCA; Director, Experimental Ga- +
meLab
Shlomo Dubnov: Associate Professor, Music +
Amy Alexander: Associate Professor, Visual Arts +
Jim Hollan: Professor, Cognitive Science; Co-Director, Distributed Cognition & HCI +
Laboratory
Stefan Tanaka: Professor, History +
Geoff Voelker: Associate Professor, Computer Science & Engineering +
Kelly A. Gates: Assistant Professor, Communication +
Barry Brown: Associate Professor, Communication +
James Fowler Associate Professor, Political Science +
Kyong Park Associate Professor, Visual Arts +
Falko Kuester Associate Professor, Structural Engineering +
AFFILIATES
Benjamin H. Bratton: Director of the Advanced Strategies Group, Yahoo!, Santa +
Monica, CA
Matthew Fuller: Reader, Convenor of MA Cultural Studies & MA Culture Industry, +
Goldsmiths College, London University; Editor, Software Studies, a lexicon MIT
Press, 2007
Scott Lash: Professor of Sociology; Director, Centre for Cultural Studies, Goldsmiths +
College, London University
Cicero Silva, Software Studies Initiative @ FILE Labo, Brazil +
VISITING FELLOWS - SPRING 2008
Tristan Thielmann: Assistant Professor in Media Studies at the Research Center Me- +
dia Upheavals, University of Siegen, Germany
CI ANTEC
// 32 //
SCHENBERG : O PENSADOR ORIGINAL
ELZA MARIA AJZENBERG - PROF. TITULAR DA ESCOLA DE COMUNICAES E ARTES
ECA/USP, COORDENADORA DO CENTRO MARIO SCHENBERG DE DOCUMENTAO DA PESQUI-
SA EM ARTES ECA/USP
impossvel separa a vida de Mario Schenberg tanto do desenvolvimento cientfico quanto do Insti-
tuto de Fsica da Universidade de So Paulo, bem como de discusses dos problemas emergentes
do pas. Participa com freqncia dos debates cientficos, polticos, econmicos e educacionais.
Entretanto, outra vertente fundamental em sua vida o permanente interesse pela arte. Desde
cedo a Europa, principalmente a Frana, agua-lhe o olhar pelos monumentos artsticos. Mais
tarde, nos Estados nicos, desenvolve conhecimentos sobre Histria da Arte fotografia e museus.
Expe trabalhos fotogrficos no Observatrio de Yerkes, na Universidade de Chicago. Tempos
depois, viaja vrias vezes ao Oriente, estudando e estabelecendo paralelos entre a filosofia, as
propostas cientficas e artsticas.
Desse modo, surge o pensador original. Schenberg alarga os horizontes da Cincia e da Arte,
tornado-as uma aventura viva e atraente. Lembrando um pensador clssico, de raciocnio denso,
aberto curiosamente falando ou meditando com os olhos quase sempre fechados -, fomenta
a ateno dos estudiosos sobre conceitos fundamentais da Fsica, passando pelas idias de
Newton, Maxwell, Leibniz e o pensamento oriental. Nunca perde de vista a questo central: O
grande problema que est diante da Fsica o problema da vida.
27
As suas explicaes con-
ceituais motivam os conhecimentos a flurem em ziguezagues ou em espiral-, passando com
desembarao do cientifico ao artstico, ganhando novos caminhos e correlaes.
A sua trajetria histrica e cientifica perpassa o zero rabe ao nada hindu; do Ocidente ao
Oriente; da matemtica de Newton ao hermetismo dos egpcios; da racionalidade da deduo
mstica da magia natural. A Historia da Cincia de Schenberg ao mesmo tempo uma Filosofia.
A relao da cincia pura com a cincia aplicada e com a tecnologia no percebida como
uma questo filosfica-formal independente da prpria Historia da Cincia em que esta relao
refletida.
28
Esse modo de pensar abre caminhos para as indagaes sobre a Natureza, o
Homem e a Arte.
Nessas correlaes, a intuio desempenha papel fundamental. Para ele a criao cientifica est
relacionada com a intuio e esta com a atividade artstica: ...assim como o artista que olha
para o rosto de uma pessoa e v coisas que os outros no vem, e mostra atravs de um retrato
que faz podem existir coisas to misteriosas que ele revela, que s vezes no sabe, ou vem a
saber depois assim so esses grandes fsicos que tm a capacidade de descobrir coisas que
os outros no vem.
29
Nesse caminho, ao comentar as fronteiras entre o conhecido e o desconhe-
cido, enfatiza que o grande matemtico no raciocina como uma calculadora os computador o
grande matemtico, usando a sabedoria oriental, antes uma espcie de poeta. Ele cria teorias
27 HAMBURGER, Aml i a i mpri o. Nota bi ogrfi ca e entrevi sta com Mari o Schenberg. So Paul o, Insti tuto de F si ca/USP,
1984, p.24.
28 GOLDFARB, Jos Lui z. Introduo. In: SCHENBERG, Mari o. Pensando a f si ca. So Paul o, Nova Stel a, 1990, p. 12 e
13.
29 SCHENBERG, Mari o. Pensando a f si ca. So Paul o, Brasi l i ense, 1984, p.51
CI ANTEC
// 33 //
matemticas como se fossem uma criao potica.
30
Percorrendo essas diretrizes, Schenberg, ao
longo de sua vida, lana um olhar penetrante na descoberta de artistas e nas conexes de suas
obras com um universo maior.
Como fsico, Schenberg dedica-se mais s reflexes da fsica terica. Interessa-se em ver as teo-
rias colocadas nas experincias de laboratrio, mas pessoalmente no se aplica a tais atividades.
A reflexo do intelectual est voltada para uma busca de compreenso do processo evolutivo.
Esse eixo perpassa a totalidade de suas preocupaes sociais, existncias ou csmicas. Como
professor, no se detm em atitudes que estagnam e corroem a vida universitria. Pelo contrrio,
dedica-se a um contexto maior, de mostrado em suas lutas e compromissos culturais e polti-
cos. Alem de cientista conhecido internacionalmente, eleito, por duas vezes, deputado estadual
(1947 e 1962), sendo compulsoriamente aposentado e afastado de suas funes universitrias,
em decorrncia do AI-5 (1969).
Na esfera artstica, observa-se que, ao lado das anlises sobre os artistas, surgem paralelamente
elaboraes conceituais e a preocupao em compreender as varias frentes, os vrios grupos e
tendncias da arte brasileira. Nos anos 60, por exemplo, enfatiza as transformaes tecnolgicas
e como essas podem afetar o trabalho mental, a cultura e as novas necessidades de comunica-
o artstica: (...) A tecnologia ciberntica se distingue da anterior pela utilizao de aparelhos
que permitem a substituio parcial do trabalho mental humano (...). E importante observar que o
emprego de novos recursos tecnolgicos em arte corresponde s novas necessidades de comu-
nicao artstica (...).
31
De modo geral, na leitura critica que realiza sobre a obra de arte, procura
sinais que manifestem o enraizamento dos processos de uma realidade abrangente csmica.
Schenberg comenta com freqncia, nos seus depoimentos que o terico e o critico de arte tm
que ter um domnio grande de filosfica, explicando no ser este o seu caso, pela maneira espo-
rdica como estudou tetos especficos. Apesar de todas as suas ponderaes, detecta-se, no
conjunto de suas reflexes, principalmente nos anos 60 e 70,
32
um contexto continuo de anlise
sobre a arte, envolvendo artistas que se afirmam no perodo de desdobramento do modernismo
e estudos sobre as vanguardas brasileiras.
33
Outro fato relevante a acolhida calorosa por parte
dos artistas, que o elegem como membro do jri das Bienais da dcada de 60. Esse encontro do
cientista com o artista definitivo. Tudo o que assimila, at o perodo das vanguardas leva-os
expressiva atuao na rea artstica.
Tais preocupaes levam-no a aprofundar as leituras sobre a Histria da Cultura, Histria da Arte e
Crtica de Arte, inseridas numa perspectiva universal. Observando as obras e os textos que compem
parte de sua biblioteca e de seu Arquivo de Arte, atualmente situadas no Centro Mario Schenberg de
Documentao da Pesquisa em Artes ECA/USP, possvel aquilatar a abrangncia terica de seus
estudos: livros de filosofia, religio, arquitetura, literatura e vrios momentos da crtica e histria da arte.
30 Idem, p.97 e 98.
31 SCHENBERG, Mari o. Pensando a arte. So Paul o, Nova Stel l a, 1988, p. 203 e 204.
32 O Arqui vo de Arte Schenberg, doado pel o professor Mari o Schenberg e que pertence ao Centro Mari o Schenberg de
Documentao da Pesqui sa em Artes ECA/USP, contm cerca de 408 documentos ori gi nai s de refl exo teri ca de arte,
escri tos e assi nados por Schenberg. Os estudos que esto sendo real i zados anual mente pel os Semi nri os Schenberg e
os depoi mentos e pesqui sas col hi dos pel o Centro Mari o Schenberg do conta da ri queza e profundi dade das questes
estti cas e enfati zam as contri bui es da cri ti ca de arte de Schenberg.
33 Estudo detal hado. In: AJZENBERG, El za, Exerc ci os estti cos de l i berdade. So Paul o, ECA/ USP. Tese de l i vre-docn-
ci a, 1989, e Col eo Arte em Revi sta CEAC Centro de Estudos de Arte Contemporanea.
CI ANTEC
// 34 //
Na arte, o envolvimento social e csmico do individuo estabelecido sempre de modo muito profun-
do. Ao comentar esse envolvimento, Schenberg parte de observaes concentradas sobre o artista
enquanto autor, indivduo dotado de criatividade original e depois as suas reflexes atingem um
todo complexo, repleto de significados. Aqui percebe que est mais vontade. Afastado de certos
rigores da sistematizao cientifica, pode pensar mais livremente no caminho esttico e propor
um pensar criativo, conectando Arte e Cincia. Dessas reflexes nascem crticas abertas, reple-
tas de desdobramentos e possibilidades.
Dessa maneira, surgem crticas com o prazer e o olhar da descoberta. (Seus textos so datilo-
grafados por ele mesmo, numa posio incomum de p como para se libertar de qualquer
amarra.) Ao mesmo tempo, a obsesso pela procura do pleno significado leva-o a traar o que
denomina de Novo Humanismo, envolvendo um novo estgio da arte (e do artista) resultante
de observao atenta do sentido da obra de arte e da insero da mesma na vida contempora-
nea, dentro de uma cosmoviso.
O vocabulrio de Schenberg como crtico assinala os propsitos da fuso cosmo e arte, ao
mesmo tempo em que acentua ainda a idia de tempo (de vrios tempos). Ao comentar Anatol
Wladyslaw, por exemplo, acentua os termos cosmos, cosmoviso: (...) desde 1965, o sentido
de tempo de Wladyslaw tornou-se poderoso e multiforme (...). Em alguns quadros, h um tempo
cosmognico de criao, em que, de um caos, comea a emergir um Cosmos. Noutros, predo-
mina um tempo escatolgico, de fim de um mundo ou de uma era. Por vezes, associa na mesma
tela imagens sugerindo pocas diversas, criando um tempo multidimensional, comunicado pelo
apartamento espacial das imagens (...).
34
Na viso crtica da obra, Schenberg no se prende a estilos propriamente ditos ou leitura de
determinados movimentos artsticos. O enfoque recai nas interaes e versatilidade. No exemplo
citado, o tempo pode se articular com outros tipos de espao, onde a cor no se prende ao
espao fsico ou extenso: o espao (artsticos) tem carne, tem dor. Nesse contexto, recupera-
se autor-obra-humanidade (no propriamente a equao conhecida: autor-obra-pblico). Todos
os seres esto integrados: o que decorre de seu Novo Humanismo. Insere-se nessa viso a
colocao social que d ao artista. Amplia a dimenso existencial do artista, na medida em que
coloca como funo da obra o despertar da criatividade na sociedade. (De modo geral, esse
tambm no rumo do intelectual e do cientista.) (...) essa criatividade se exprimir no vivido.
Dessa forma, o artista fica sendo uma espcie de ferimento, de catalisador da criatividade que
existe em todos. Essa criatividade no tende a se manifestar basicamente na produo de obras,
mas sim na prpria maneira de viver.
35
34 SCHENBERG, Mari o. Pensando a arte. Op. Ci t., p.36.
35 Idem, p.79.
CI ANTEC
// 35 //
ARTE ALTERNATIVA: NET.ART
INS MCIA DE ALBUQUERQUE
RESUMO // A arte de Internet uma das novas expresses artsticas contemporneas directamente
relacionada com as tecnologias, mais especificamente com as novas tecnologias, e com um novo
meio de comunicao de grande importncia, a Internet. No contexto da rede e da arte contempo-
rnea a net.art permite, apesar da sua recente existncia (sensivelmente desde 1994), questionar
vrios aspectos que, no sendo novidade, ganharam nova importncia a partir do advento desta
forma de expresso. Na tradio das vanguardas europeias, a net.art assume-se como uma ex-
presso artstica decorrente da apropriao, por parte dos artistas, das tcnicas e tecnologias
que formam o seu quotidiano, e vem mais uma vez reafirmar a importncia da arte contempornea
para a compreenso do mundo que nos rodeia. Idntica importncia tem verificar que a arte de
Internet ainda se mantm margem dos grandes circuitos artsticos. Apesar da existncia de
vrios festivais e encontros que proporcionam ao cidado comum o contacto com esta forma de
arte, e de algumas instituies de renome mundial j integrarem nos seus programas referncias
arte de Internet, em alguns casos apoiando tambm os artistas, para o observador, para aquele
que se relaciona com a obra, esta continua a ser uma forma de arte alternativa, margem das
expresses consideradas tradicionais e aceites, como a pintura e a escultura.
PALAVRAS-CHAVE: arte contempornea, novas tecnologias, Internet, net.art
RESUMEN // El arte de Internet es una de las nuevas expresiones artsticas contemporneas di- El arte de Internet es una de las nuevas expresiones artsticas contemporneas di-
rectamente relacionado con las tecnologas, y en especfico, con las nuevas tecnologas, y con
un medio de comunicacin de gran importancia, la Internet. En el contexto de la red y del arte
contemporneo el net.art permite, y mientras su reciente existencia (sensiblemente desde 1994),
cuestionar varios aspectos que, no siendo novedad, han adquirido nueva importancia a partir del
advenimiento de esta forma de expresin. En la tradicin de las vanguardias europeas, el net.art
se asume como una expresin artstica decurrente de la apropiacin, por parte de los artistas, de
las tcnicas y tecnologas que forman su cotidiano, y viene una vez ms reafirmar la importancia
del arte contemporneo para la comprensin del mundo que nos cerca. Semejante importancia es
verificar que el arte de Internet an existe al margen de los grandes circuitos artsticos. A pesar de
la existencia de varios festivales y encuentros que proporcionan al ciudadano comn el contacto
con esta forma de arte, y de las instituciones de renombre mundial ya integraren en sus programas
referencias al arte de Internet y en algunos casos apoyando tambin los artistas, para el observa-
dor, para l que se relaciona con la obra, esta continua a ser una forma de arte alternativa, al mar-
gen de las expresiones consideradas tradicionales y aceptadas como la pintura y la escultura.
PALABRAS-CLAVE: arte contemporneo, nuevas tecnologias, Internet, net.art
A arte contempornea tem-se apresentado, desde meados do sculo XX e at actualidade, como um
territrio de confluncia de expresses artsticas mediadas pelas tecnologias, dando origem Media Art.
CI ANTEC
// 36 //
Desde a modernidade que os artistas tm estado na vanguarda do iderio e do imaginrio, e tm
procurado apropriar-se das inovaes tcnicas e tecnolgicas que formaram e formam o seu (e o
nosso) quotidiano, enquanto matria/meio de produo
36
. E o que se passou com a rede de Internet
no foi diferente.
Inicialmente desenvolvida como um projecto militar, idealizado pelos Estados Unidos da Amrica
no perodo da Guerra Fria, permitia estabelecer uma rede de comunicao segura em caso de
ataque nuclear, entre vrios pontos distintos e distantes geograficamente. A Internet, como se
passou a chamar, extrapolou as suas funes iniciais por volta de 1995 e expandiu-se rapidamen-
te at utilizao pela comunidade civil. Apresentando-se como um novo meio de comunicao,
imediato, global, no qual a troca de informaes se processa em tempo real, e que no est
condicionado a questes de ordem geogrfica, de diferena horria ou at de lngua (o ingls
por conveno a lngua preferencialmente utilizada na Internet), esta rede mundial estabelecida
atravs de conexes entre pontos de acesso distintos rapidamente foi absorvida pelos artistas
como matria/meio de produo
37
.
A apropriao deste novo meio de comunicao e divulgao por parte dos artistas (apropriao
esta que se iniciou sensivelmente em 1994) permitiu o acesso fcil a um espao virtual e de
experimentao, de custos reduzidos, independente das instituies e do mercado, onde a arte
se pde desenvolver por caminhos de activismo, de interveno, de contestao, de interaco,
levando sempre em considerao a relao entre arte e comunicao permitida pela rede. Ainda
em evoluo, a arte que produzida em e para a rede de Internet, s assim entendida, se
possuir algumas caractersticas particulares, como: interactividade, natureza efmera, carcter
virtual e no material, difuso pblica atravs do meio de comunicao que a rede, multiplici-
dade de pontos de acesso obra, participao do usurio e experincia imediata, assim como
uma esttica particular, decorrente do meio no qual a obra produzida.
Ao contrrio do que se pode supor a net.art no inclui todas as artes criadas em suportes digitais
mas apenas a arte que criada na e para a rede, atravs dos suportes disponibilizados pela
mesma, e que s acessvel atravs da Internet, e que caracteristicamente exige uma interac-
o, no espao virtual, com o observador. O prprio termo net.art foi aplicado a esta nova forma
de expresso artistica, em 1995, pelo artista esloveno Vuk Cosic, que recebeu um e-mail corrom-
pido, no qual a nica expresso legvel era net.art
38
.
No que se refere ao espao virtual da rede de Internet este poder ser encarado como uma
extenso do nosso espao fsico pelo facto de ser to real quanto a realidade material ou fsica
na qual nos movemos, e estar estruturado tendo por inspirao tudo o que se passa no nosso
quotidiano. Apesar disto acima de tudo um no-lugar, um espao enclausurado num mundo
de acesso restrito, um espao em que nem a identidade, nem a relao social, e nem o passado
histrico se assumem como noes fundamentais, e onde se encontra uma sensao de solido
individual, garantida por um estar de passagem. O ser e estar na rede de Internet relativo:
36 E tal como di z Lewi s Mumford, as rel aes entre a arte e a tcni ca nos do uma pi sta si gni fi cati va para qual quer outro
ti po de acti vi dade (i n Arte e Tcni ca, 1952), o que refora a i mportnci a da apropri ao das tcni cas e tecnol ogi as por
parte dos arti stas.
37 http://map.j odi .org/ - a rede de Internet vi sta pel o col ecti vo de arti stas JODI
38 Informao detal hada sobre a ori gem do termo acess vel em http://www.i nternet.com.uy/vi bri /artefactos/netarte.htm
CI ANTEC
// 37 //
o usurio pode ir alm da sua identidade individual e assumir qualquer outro papel, que no entanto
s possvel quando o individuo est online, ou seja, quando est em linha, conectado rede. Do
ponto de vista de Marc Aug
39
, o no-lugar
40
o produto da sobremodernidade, para ns enten-
dida como o momento contemporneo, caracterizado por uma globalidade em todos os aspectos.
Neste no-lugar virtual que a rede, s nos possvel uma interaco no directa, realizada atravs
de interfaces fsicas e virtuais.
tambm um espao com uma organizao que se pretende no hierarquica e democrtica, de
acesso livre, onde a organizao social existe de um forma particular. Os usurios juntam-se de
acordo com os seus interesses, independentemente da sua localizao geogrfica, formando co-
munidades de discusso, de partilha de informao, ou simplesmente de criao, nas quais a sua
individualidade diluida em favor do grupo e dos seus interesses. Um dos exemplos mais conhe-
cidos destas comunidades sem dvida Rhizome
41
, um espao virtual com origem geogrfica em
Nova Iorque, direccionado para a criao, apresentao e preservao da arte contempornea
na sua relao com as novas tecnologias.
Decorrente deste espao virtual encontramos uma esttica particular (como j foi referido), com
a qual possvel identificar as obras de net.art. Pela sua existncia meditica, digitail, virtual, ou
como se queira chamar, estas obras permitem-nos uma experincia esttica baseada na relao
interactiva com um espao no material, e que pela sua imaterialidade nos conduz a percepes
sensoriais mediadas pelos equipamentos tecnolgicos necessrios. A fruio da obra de net.art
uma fruio tecnolgica, mediada por interfaces fsicas e virtuais que nos possibilitam o contac-
to com a obra, permitindo ir alm do tradicional conceito de beleza, para se entrar em territrios
que vo desde a subverso, crtica, ruptura, imerso, ao estranhamento, entre outros.
Esta arte alternativa tem como principal ponto de interesse a possibildade de ser uma opo alm
da dita arte tradicional (pintura, escultura, fotografia, etc) que est em relao directa com o mo-
mento presente. O momento contemporneo caracteriza-se pela velocidade estonteante qual
todas as informaes so trocadas, pela vivncia de acontecimentos em directo, por relaes
humanas no fsicas ou presenciais, por transmutao de valores morais da realidade para a vir-
tualidade, pela vivncia de vidas paralelas (entre real e virtual), por um capitalismo desenfreado,
pela economia global, pela cultura global, pela tremenda influncia dos meios de comunicao
no dia-a-dia, entre muitos outros factores possiveis de serem enumerados. Neste sentido, a net.art
um espelho desta realidade, e embora localizada num mundo virtual permite-nos reflexes em
directo (ou seja, no momento), questionamentos que muitas vezes no so novidade, mas antes
repensados face a um novo contexto e a uma nova situao.
No que se refere a questionamentos, a net.art trouxe muito sobre o que pensar. Permite explorar
o contexto da obra, do artista, do observador, da relao com as instituies e com o mercado,
39 Aug, Marc (2005), No-Lugares Introduo a uma Antropol ogi a da Sobremoderni dade, Li sboa, 90 Graus Edi tora
40 Os no l ugares so todavi a a medi da da poca; medi da quanti fi cvel e que poder amos tomar adi ci onando, ao preo de
al gumas converses entre superf ci es, vol ume e di stnci a, as vi as areas, ferrovi ri as, das autoestradas e os habi tcul os
mvei s di tos mei os de transporte (avi es, comboi os, autocarros), os aeroportos, as gares e as estaes aeroespaci ai s,
as grandes cadei as de htei s, os parques de recrei o, e as grandes superf ci es de di stri bui o, a meada compl exa, enfi m,
das redes de cabos ou sem fi os que mobi l i zam o espao extra-terreste em benef ci o de uma comuni cao to estranha que
mui tas vezes mai s no faz do que pr o i ndi v duo em contacto com outra i magem de si prpri o.
41 http://rhi zome.org/
CI ANTEC
// 38 //
da virtualidade, entre muitas outras situaes com as quais nos deparamos em cada novo contacto
com a obra de net.art.
i) Acerca da obra. A obra de arte de Internet, pelo facto de existir somente online, isto
, na rede, difundida publicamente e acedida atravs de mltiplos pontos de acesso, potencial-
mente tantos quantos os pontos de acesso prpria rede. Assim sendo, estas duas condies
implicam alteraes no que respeita originalidade e reproductibilidade da obra.
Estas questes tm sido referenciadas desde que possvel entender uma relao entre arte e
tcnica/tecnologia, devido s possibilidades de reproduo do original (o que de certa forma
possibilitou a existncia do Kitsch, ao reduzir-se a reproduo da obra de arte a um objecto mera-
mente decorativo, muitas vezes adulterado no seu contexto e na sua imagem).
O questionamento que a net.art trouxe neste sentido relaciona-se, no com a reproduo do
original, mas com o facto da mesma obra ser acedida, simultaneamente, por vrios usurios lo-
calizados em distintos pontos de acesso. Desta forma possvel equacionar se estamos perante
apenas uma obra, e se essa a obra original. Levando em considerao que esta situao
aplicvel somente a obras dinmicas e interactivas, que partem de um momento inicial proposto
pelo artista mas que se desenvolvem de acordo com a resposta do observador, possvel en-
tender que, se a obra acedida de diferentes pontos, por diferentes usurios, e em diferentes
momentos, cada individuo ir contactar com um momento particular da obra, e desta forma cada
usurio ir estar perante uma obra distinta, surgida a partir do projecto desenvolvido pelo artista.
Sobre a originalidade, neste sentido entende-se que o original o projecto criado pelo artista,
mas apenas em potencial, pois no momento em cada usurio acede obra, o original multiplica-
se no seu campo virtual de existncia
42
.
Ainda no que se refere obra, encontramos na net.art uma nova forma de obra: a obra-pro-
cesso
43
. Directamente relacionada com a interactividade, a obra-processo acontece quando
solicitada a participao do usurio. Isto , o artista cria para a rede um projecto artstico que se
pode considerar no finalizado, que visa aproveitar as propriedades interactivas da Internet para
possibilitar a aco do usurio, atravs de interfaces fsicas e virtuais, sendo este o elemento res-
posvel por gerar a obra final atravs das suas escolhas e dos seus desejos. Desejos estes que
no entanto no condicionam a obra, pois partida, os limites da interaco foram definidos pelo
artista. A obra-processo existe ento atravs do processo interactivo desencadeado pelo artista,
e desenvolvido pelo usurio entre si, a rede e a prpria obra.
Finalizando o ponto dedicado obra ainda necessrio referir a natureza efmera da obra de net.
art, decorrente da sua existncia enquanto obra-processo. Numa obra de arte que existe apenas
no momento em que o processo interactivo se desenrola entre usurio, rede, e projecto artstico
criado pelo artista, a finalidade ltima no o registo. Ao no registar-se a obra-processo, a obra
reside num momento efmero no qual toma parte, fisicamente, apenas o usurio.
ii) Acerca do artista. A individualidade do net-artista (se que possvel cunhar um
42 Sobre a ori gi nal i dade da obra resul ta i nteressante refl ecti r sobre e desvendar as possi bi l i dades do espao vi rtual no
desdobramento dos seus el ementos i ntegrantes.
43 Esta questo j foi tema de outros arti gos, como o trabal ho parti ci pante no FILE 2006: A Rede e a Obra: uma nova
abordagem a parti r do processo i nteracti vo, por Ins Mci a de Al buquerque e Ri cardo M. S. Torres.
CI ANTEC
// 39 //
termo deste tipo) uma das caractersticas mais significativas pelo facto de se ter diluido no seio da
rede, tendo sido substtuida pelos temas, pelos interesses ou pela esttica da obra enquanto elemen-
to de identificao. A assinatura j no um atributo significativo. O colectivo JODI
44
, existente desde
1994, normalmente reconhecido pelos seus trabalhos com uma esttica de subverso do prprio
ambiente da rede
45
, e no pelo facto de reflectir o trabalho de Joan Heemskerk artista holandesa,
e Dirk Paesmans artista belga, dois nomes individuais quase annimos no contexto da rede.
Na linha dos artistas vanguardistas, os net-artistas so habitualmente elementos virtualmente
intervenientes, agitadores e activos de um ponto de vista crtico, criticando muitas vezes o prprio
meio no qual realizam o seu trabalho. Privilegiam a independncia face s instituies e ao mer-
cado e permitem a participao do usurio no seu trabalho, abrindo a sua arte ao colaborativismo.
O artista-autor d forma ao objecto da sua imaginao, guiando o usurio no processo esttico
atravs de obras criadas com as ferramentas existentes no meio de comunicao que a inter-
net. O artista prope e apresenta ao usurio hipteses de interaco com a obra e com o meio,
permitindo assima a finalizao do seu trabalho por outro.
iii) Acerca do observador. A relao do observador com a Internet, ou com o espao virtual
da rede, estabelece-se atravs de um dilogo limitado pela mediao das interfaces fsicas e
virtuais que permitem uma comunicao interactiva. a partir desta possibilidade de interaco
que o observador, identificado como usurio da Internet, e como fruidor das obras de net.art, se
transforma num co-autor, ou seja, num artista do lado fsico da relao com o virtual.
A caracterstica interactiva da arte de Internet permite que o observador da arte, aquele que
procura e aprecia o contacto com a obra, deixe o seu habitual papel de fruidor passivo para se
tornar um elemento necessrio na finalizao da obra, a partir da sua aco sobre a mesma. A
sua experincia com a arte de Internet dinmica e interactiva, e na sua aco sobre a obra
que se gera a possibilidade de uma co-autoria, situao esta impensvel no contexto de outras
manifestaes artsticas.
Quando ponderamos o papel do observador da obra de arte dita tradicional, ou seja, da obra
de arte de pintura, escultura, instalao, ou qualquer outro suporte bidimensional ou tridimensio-
nal apresentado na galeria ou no museu, verificamos que existe sempre alguma passividade do
lado do fruidor, pelo facto de apenas em raras excepes lhe ser permitido tocar na obra de arte.
Mais raramente ainda o fruidor ter oportunidade de se tornar elemento integrante do processo
criativo e formador, fazendo da sua experincia com o objecto artstico a finalizao da obra.
As performances interactivas so provavelmente a nica excepo, possibilitando ao observador
uma imerso na obra que acontece.
iv) Acerca da relao com as instituies e com o mercado. Embora actualmente algumas
instituies tenham integrado a net.art no seu leque de interesses, foram precisos alguns anos at
que a net.art perdesse o seu estatuto de total independncia face aos museus ou s galerias, e at
que estes mesmos museus e galerias entendessem o interesse desta forma de arte contempornea.
A Tate Gallery, Londres, foi uma das instituies que integrou a net.art no seu programa cultural e
44 Mai s i nformaes acerca de JODI podem ser encontradas em http://en.wi ki pedi a.org/wi ki /Jodi . Websi te do grupo em
www.j odi .org.
45 Exempl o de uma obra do grupo JODI: http://text.j odi .org/.
CI ANTEC
// 40 //
artstico, atravs do seu espao Intermedia Art New Media, Sound and Performance
46
.
Com relao ao mercado ainda se pem as questes de como coleccionar, expr e rentabilizar, de
um ponto de vista financeiro, estas obras. Se, para os artistas, o seu baixo custo e a sua difuso
global atravs de um meio de comunicao so duas das vantagens, para os coleccionadores
so duas dificuldades na aquisio das obras de net.art, pois como se colecciona um endereo
electrnico que no passvel de ser fisicamente guardado ou exposto?
v) Acerca da net.art. Pode-se considerar que a arte de Internet revolucionou a relao do
indivduo com a arte, procurando satisfazer a utopia de aproximar a arte do cidado, de a tornar
de livre acesso a qualquer um. Por existir num meio de comunicao global, acessvel distncia
de uma simples operao mediada por interfaces fsicas ou virtuais, a net.art aproximou-se de
todos aqueles que possuem os elementos necessrios para aceder ao mundo virtual: computa-
dor e demais componentes fsicos associados, acesso rede de Internet, e to importante como
qualquer destas condies, a compreenso da linguagem simblica do ambiente virtual, aliada
capacidade de interaco com a informao existente neste espao.
No entanto, a net.art no cumpre na ntegra esta ideia. Est de facto permanentemente acessvel,
e sem custos directos, atravs da rede de Internet, mas continua a ser uma forma de expresso
desconhecida para todos aqueles para quem a Internet no passa de uma miragem num futuro
longinquo.
Outra das questes da net.art est relacionada com a capacidade do usurio entender e usufruir
desta forma de arte. Vrios estudos tm demostrado a existncia de camadas da populao dos
pases ocidentais industrializados que se situam no universo dos info-excludos, ou seja, no con-
junto daqueles que no reuniram at ao momento as capacidades necessrias para apropriao
deste novo meio de comunicao para o seu quotidiano, e com o qual no conseguem estabele-
cer qualquer relao ou empatia, simplesmente porque no aprenderam a utiliz-lo. Entre estes
individuos, e mesmo entre parte dos usurios comuns da Internet, a net.art desconhecida,
outras vezes incompreendida, outras vezes ainda severamente criticada, situando-se como uma
forma de arte alternativa no seio de uma sociedade contempornea que na sua maioria ainda
entende a arte como pintura ou escultura.
Desta forma, o campo de existncia e desenvolvimento da arte de Internet vai-se revelando ape-
nas para alguns, quebrando a utpica ideia de devolver a arte ao povo atravs da utilizao de
um meio de comunicao global. A par de outras expresses artsticas que tentaram reivindicar
o uso de meios de comunicao para fazer arte (como no caso de Nam June Paik, artista coreano
dedicado video arte) e que no conseguiram ultrapassar a barreira do tradicional, situando-se
portanto margem do contexto social, tambm a net.art continua a existir num espao e num meio
meio alternativo com relao concepo de arte, sendo por isso a Internet pouco entendida pelo
cidado comum como um espao de criao artstica.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS:
Aug, Marc, (2005), No-Lugares: Introduo a uma Antropologia da Sobremodernidade, Lisboa, 90 Graus Editora
46 http://www.tate.org.uk/i ntermedi aart/ e http://www.tate.org.uk/i ntermedi aart/archi ve/net_art_date.shtm
CI ANTEC
// 41 //
Baigorri, Laura e Cilleruelo, Lourdes (2006), Net.Art: Prcticas estticas y polticas en la red, Madrid, Brumaria
Manovich, Lev (2005), El lenguaje de los nuevos medios de comunicacin: la imagen en la era digital, Barce-
lona, Paids Comunicacin
NOVOS MEDIA - INVESTIGAO ARTSTICA
MARIA ISABEL AZEVEDO DOUTORA - ARCA-ESCOLA UNIVERSITRIA DAS ARTES DE
COIMBRA - ID+ (INSTITUTO DE INVESTIGAO EM DESIGN, MDIA E CULTURA)
ROSA MARIA OLIVEIRA DOUTORA - DEPARTAMENTO DE COMUNICAO E ARTE, UNIVER-
SIDADE DE AVEIRO - ID+ (INSTITUTO DE INVESTIGAO EM DESIGN, MDIA E CULTURA)
RESUMO // A arte que explora as fronteiras cientficas e tecnolgicas investiga tambm as possibi-
lidades e implicaes dessas inovaes tecnolgicas.
A explorao de novos territrios criativos e estticos com as ferramentas prprias da cincia
e das tecnologias aplicadas, direcciona o desenvolvimento de projectos artsticos de carcter
experimental e transdisciplinar, em que h uma necessidade real de aumentar substancialmente
os conhecimentos cientficos e tecnolgicos dos artistas que trabalham nestas reas de expe-
rimentao e criao, para poderem percorrer os seus prprios caminhos estticos, formais e
conceptuais.
Os parmetros dos conhecimentos cientficos e tecnolgicos requeridos, ainda no so claros.
Poder o artista encontrar a mistura certa dos processos objectivos e subjectivos?
As tecnologias contemporneas e a sua experimentao na arte aparecem em propostas to
diversas, que so difceis de enumerar, situando-se em diversos campos das cincias e envol-
vendo actividades de cooperao no trabalho, modificando mesmo o conceito de autor e de obra
de arte.
Portanto, no ltimo sculo, a definio do que a arte, tem sido expandida para alm dos media
convencionais, contextos e propsitos. No entanto, podem-se registar algumas caractersticas
que se mantm, como por exemplo, a no existncia de propsitos utilitrios, pretender provocar
uma audincia ou motiv-la, geralmente com propsitos estticos ou intelectuais.
Se produzir arte no apenas formular um objecto, mas tambm a formulao de ideias comple-
xas, ento que efeitos tm as questes acadmicas na prtica da arte? E qual a natureza da rela-
o entre arte e pensamento? Que tipo de pensamento vem da arte e como que ns o definimos?
Quando a arte em questo investigao acadmica, como que ela se situa, tanto em termos de
educao superior universitria, como na prtica da arte em sentido lato?
evidente que existe uma enorme complexidade, no entendimento da arte como investigao. Mas
necessrio propor formas, em que o discurso visual, juntamente com o verbal, possam, mais acti-
CI ANTEC
// 42 //
vamente, gerar um debate de ideias e desenvolver novas metodologias experimentais em relao s
questes: Como que a investigao atravs da arte pode ser demonstrada, avaliada e criticada?
O que diferente acerca da prtica da arte como constituinte da investigao e como que pode
produzir formas diferentes de conhecimento?
PALAVRAS CHAVE // novos media, investigao artstica, ensino universitrio, prtica artstica.
ABSTRACT // The art that explores the scientific and technologic frontiers also researches on the
possibilities and implications of those technologic innovations.
The exploration of new creative and aesthetic territories with the tools proper of science and the
applied technologies directs the development of artistic projects of experimental and trans-disci-
plinary character which truly require from the artists who lead their work in these experimentation
and creation areas the need to increase the scientific and technological knowledge, so they can
make their own aesthetic, formal and conceptual paths.
The parameters of the required scientific and technological knowledge are not clear yet. Will the
artist really find the right mix of the objective and the subjective processes?
Contemporary technologies and their experimentation in art occur in so many different proposals
it is hard to mention, being present in various fields of sciences and comprising work cooperation
activities, even changing the concept of author and work of art.
So, since the last century, the definition of art has been expanded beyond the conventional me-
dia, contexts and purposes. However, it is possible to remark that some features are to be kept,
for example the non-existence of practical purposes, attempting to provoke or motivate a given
audience generally with aesthetic or intellectual purposes.
If producing art is not only formulating an objective but also the formulation of complex ideas, then
what sort of effects do academic questions have in the practice of art? And what is the nature of
the relationship between art and thought? What sort of thought comes from art and how do we de-
fine it? When the art in question is academic research, how is it located, both in terms of university
education and in the practice of art in general?
Of course there is an enormous complexity in the understanding of art as research. But it is neces-
sary to propose forms in which the visual and the verbal discourses together can more actively
generate a debate and develop new experimental methodologies related to the questions: How
can research through art be exhibited, evaluated and criticized? What is different about the prac-
tice of art as part of research work and how can it produce different knowledge forms?
KEY WORDS // new media, art research, university education, artistic practice.
1-INTRODUO
Quando Einstein, no incio do sculo XX, formulou a teoria da relatividade, mal podia supor que a
conscincia aberta pela sua concepo de leis do universo desencadeasse tamanha transformao
nos rumos da esttica contempornea.
CI ANTEC
// 43 //
O desenvolvimento da fsica quntica, nas primeiras dcadas do sculo XX, levou incorporao
da incerteza no mundo cientfico, na mesma poca em que noes semelhantes foram exploradas
no mundo das artes. H um certo parentesco entre as relaes espaciais e as vises espao-tempo
introduzidas pela relatividade e a ruptura com a perspectiva cnica e central, seguida desde o Re-
nascimento, colocada pela esttica cubista, ou por exemplo, no caso de Escher, que explorou nos
seus desenhos estruturas geomtricas semelhantes s previstas pelas equaes de Einstein, em
que h muitos pontos de vista, alguns aparentemente impossveis.
Parece haver um certo paralelismo entre o que se passa na arte e na fsica. Hoje considerado que
h ainda uma certa continuidade entre a fsica clssica e a fsica relativista, mas no entre estas
e a fsica quntica. Na arte, geralmente aceite que a ruptura com as formas de representao e
expresso anteriormente aceites no se deu com as revolues artsticas do sc. XIX e primeira
metade do sc. XX. O impressionismo, o cubismo e o expressionismo abstracto podem ainda ser
colocados numa mesma linha de evoluo que vem da tradio da pintura, mas parece no existir
continuidade no fim do expressionismo abstracto, com o aparecimento de formas de arte como os
happenings e a arte conceptual.
47
O uso crescente das novas tecnologias e o interesse que a investigao cientfica tem desper-
tado nos artistas, do que decorre a impossibilidade de se compreender o futuro das artes sem
devotar ateno cincia e tecnologia, pode ser uma chave para compreender a arte do
sculo XXI.
2- NOVOS MEDIA / INVESTIGAO ARTSTICA
Nas novas direces e confluncias que vm sendo possibilitadas pelos novos meios electrni-
cos, distintos sectores, reas e disciplinas tendem a interpenetrar-se e a evoluir em conjunto.
A utilizao do computador e das novas tecnologias h j bastante tempo que ultrapassou a
noo de ferramenta ou de instrumento, para se assumir como dispositivo artstico. Mas o que
realmente importa so os efeitos desses dispositivos sobre o pensamento, o processo e a reali-
zao artstica.
Actualmente, vrias geraes de artistas tm desenvolvido as suas obras focando as reas tecno-
cientficas, os avanos na rea computacional e dos meios de comunicao, a biologia e a enge-
nharia gentica, entre outros. Exploram a dimenso artstica e esttica das tecnologias atravs do
tratamento electrnico de imagens vdeo, dispositivos de interaco, redes neurais, em instala-
es interactivas, web art e eventos robticos. Esse o caso do que tem sido nomeado como arte
electrnica, arte comunicao, ou ainda bio-arte e arte gentica.
Nesses trabalhos est presente o intuito do dilogo e da interaco dinmica expondo a fragmen-
tao da experincia deste nosso novo quotidiano e gerando um clima de comentrio, participa-
o, intercmbio e partilha.
evidente que existe uma enorme complexidade, no entendimento da arte como investigao, mas
necessrio propor formas, em que o discurso visual juntamente com o verbal possam mais acti-
47 D Orey, Carmo, A Exempl i fi cao na Arte, um estudo sobre Nel son Goodman, Textos uni versi tri os de ci nci as soci ai s
e humanas, Edi o Fundao Cal ouste Gul benki an, Fundao para a Ci nci a e Tecnol ogi a, 1999, p. 691.
CI ANTEC
// 44 //
vamente gerar um debate de ideias e desenvolver novas metodologias experimentais em relao s
questes: Como que a investigao atravs da arte pode ser demonstrada, avaliada e criticada?
O que diferente acerca da prtica da arte como constituinte da investigao e como que pode
produzir formas diferentes de conhecimento?
Como se disse anteriormente, a definio do que a arte, tem sido expandida para alm dos me-
dia convencionais, contextos e propsitos. J Marcel Duchamp
48
no props o urinol, mas sim a
experincia de nele ter visto a fonte. Consideramos aqui a experincia no o mero objecto dessa
experincia. Diante de um ready-made, no apreciamos a habilidade do artista. Imediatamente
procuramos saber qual a inteno do proponente, que envolve tambm o que o acto de expor
ou o acto de visitar um museu.
Para Nelson Goodman, por funcionar como smbolo de uma determinada maneira que um ob-
jecto se torna, quando assim funciona, uma obra de arte.
49
Para este autor, o objectivo prioritrio
da simbolizao o conhecimento, e este consiste na construo de verses de mundos atravs
de sistemas de smbolos, como as palavras e os nmeros usados na cincia, e as imagens, sons
e gestos das diferentes artes e da vida comum. Assim, a fronteira entre arte e cincia esbate-
se, sendo que a diferena essencial assenta no tipo de smbolos e processos de simbolizao
utilizados. A sua tese principal, a de que a arte uma forma de conhecimento, e a tarefa da
esttica consiste em explicar como, analisando os seus sistemas e formas de simbolizao e o
que os aproxima e distingue dos outros.
De facto, tal como diz Carmo DOrey, a diferena relevante entre arte e cincia, no consiste
na diferena entre cognitivo e no cognitivo, mas na diferena entre os processos simblicos
utilizados. As construes de mundos cientficas so verses denotativas, verbais e literais; as
construes de mundos da arte so feitas, em larga medida, por verses que utilizam meios no
literais, como a metfora, processos no denotativos, como a exemplificao e a expresso, e,
no caso da pintura, da arquitectura, da msica e da dana, por sistemas no verbais. Na cincia,
os smbolos tm geralmente referncia nica e directa e so precisos; na arte, a referncia
geralmente mltipla, indirecta e complexa e, por isso, os smbolos so imprecisos e ambguos.
Na cincia, os smbolos so transparentes, o nosso interesse foca-se no denotado; na arte so
opacos, o interesse concentra-se sobre o prprio smbolo.
50
Parece-nos que o caminho para o entendimento da arte como investigao (porque a actividade
da arte sempre foi tida como experimentao), e o correspondente ensino artstico, alm da inte-
grao das vrias artes, tambm deve incluir a relao da arte e da cincia.
3-ENSINO UNIVERSITRIO
Se produzir arte no apenas formular um objecto, mas tambm a formulao de idias comple-
xas, ento que efeitos tm as questes acadmicas na prtica da arte?
Arte e pensamento, qual a natureza desta relao? Que tipo de pensamento vem da arte e como
48 Duchamp, Marcel , Engenhei ro do tempo perdi do, Ass ri o & Al vi m, Li sboa, 1990.
49 D Orey, Carmo, A Exempl i fi cao na Arte, op. ci t., pp. 115-131.
50 D Orey, Carmo, A Exempl i fi cao na Arte, op. ci t., p. 732.
CI ANTEC
// 45 //
que ns o definimos? Quando a arte em questo investigao acadmica, como que ela se situa
tanto em termos de educao superior universitria, como na prtica da arte em sentido lato?
O espao de elucidao das relaes entre o fazer e o saber artsticos a Universidade. O
fazer-pensar arte na universidade significa o estabelecimento de laboratrios vivos que vo de
encontro ao esgotamento do campo dos possveis, mediante mtodos heursticos, demonstrando
que precisar o impreciso sempre um caminho possvel.
Segundo Jlio Plaza
51
, este querer-saber-do-fazer ir ao encontro da linguagem prpria do artista,
ou seja, aquela que diz respeito Potica como processo formativo e operativo da obra de arte.
De tal forma que, enquanto a obra se faz, se inventa o modo de fazer.
H, contudo, muitas formas de arte com especificidades, complexidades e formulaes prprias,
mas os dois elementos constituintes do princpio criativo, a formao espontnea e o acto
consciente, so comuns a todas elas.
Esta relao deve ser estudada em qualquer Potica (sntese operativa do fazer-pensar), utilizan-
do-se, para isso, do cruzamento iluminador de todas as artes e cincias como meios possveis (o
que aponta para uma comparao entre elas). Assim, o raciocnio perceptual (saber sensvel) e
o pensamento como interaco combinatria (a procura do inteligvel) constituem o cenrio do
pensamento criativo, de forma complementar, interdisciplinar e multimeditica.
52
4- PRTICA ARTSTICA
Tradicionalmente os artistas trabalharam com aprendizes, ou assistentes, formando equipas de
trabalho. Isso aconteceu tanto com Rafael e Rembrandt como, por exemplo, com Andy Warhol
ou Richard Serra. Os artistas contemporneos trabalham com assistentes ou equipas tcnicas,
especializadas na rea que eles querem manipular, seja computador, vdeo, filme, fabricao de
objectos, construo de ambientes ou produo de dispositivos electrnicos.
Actualmente, muitas vezes, o atelier substitudo pelo laboratrio. E os artistas nem sempre dominam
tecnicamente os aparelhos ou outros dispositivos tecnolgicos, precisando de assistncia. No entanto,
pensamos que tambm se devem tornar curiosos acerca da investigao cientfica e tecnolgica e
adquirir habilidade e conhecimento que lhes permitam participar significativamente nesses mundos.
Devem expandir noes convencionais do que constitui uma educao artstica, desenvolver a capa-
cidade de penetrar abaixo da superfcie da apresentao tecno-cientfica para pensar acerca das di-
reces de investigaes inexploradas e implicaes no previstas, e dominar as fontes de informao
usadas pelos cientistas e engenheiros, desenvolvendo um novo tipo de papel do artista investigador.
Por exemplo, o artista e arquitecto Usman Haque tem concebido sistemas interactivos e interessa-
se pelos meios utilizados pelos indivduos para estabelecer relaes entre eles e o ambiente que
os envolve. Para ele, a nova linguagem da arquitectura dever poder estimular cada um dos cinco
sentidos, uma vez que cada cultura compreende o espao de maneira diferente, ao utilizar uma
diferente combinao dos sentidos.
51 Pl aza, Jl i o, Arte/Ci nci a: Uma Consci nci a, 1994-96, http://wooz.org.br/artesj ul i opl aza.htm
52 Pl aza, Jl i o, Arte/Ci nci a: Uma Consci nci a, op. ci t.
CI ANTEC
// 46 //
PLETTS HAQUE, SCENTS OF SPACE, 2002 // INSTALAO INTERACTIVA
Scents of Space (2002), foi realizado em colaborao
com Josephine Pletts e o Dr. Luca Turin, e uma ins-
talao interactiva que difunde odores. Logo que uma
pessoa entra neste espao, experimenta zonas bem de-
marcadas de odores que definem e demarcam seces
deste espao, sem recorrer a barreiras fsicas. Cada
um dos odores pode ser localizado de forma precisa,
permitindo a cada pessoa encontrar novos odores con-
forme se desloque na zona interactiva, vertical ou horizontalmente. Os cheiros so difundidos em
resposta aos movimentos das pessoas, viajando lentamente atravs do espao em linha recta,
assim que as pessoas decidem misturar os odores com os movimentos dos seus corpos. Quando
os movimentos das pessoas se misturam so criados outros odores. O estudo do sistema olfac-
tivo humano tem demonstrado que os odores podem contribuir para uma modificao da nossa
percepo e activar a memria de sensaes e experincias h muito tempo esquecidas. Scents
of Space, permite a Usman Haque reflectir acerca de um espao arquitectnico, em que, se esse
espao pudesse estar sintonizado de forma precisa com os odores, tornar-se-ia possvel criar
novas maneiras de experimentar, controlar e interagir com o espao.
Michael Bleyenberg, produziu a instalao, EyeFire (AugenFeuer), em associao com o Institute
for Light and Building Technology, (ILB), sediado na Universidade de Colnia, na Alemanha,
tirando partido de uma tcnica hologrfica, aqui desenvolvida.
MICHAEL BLEYENBERG, EYEFIRE, 2000 // INSTALAO HOLOGRFICA ; FILME
HOLOGRFICO COLOCADO ENTRE VIDROS, NO EDIFCIO DA GERMAN RESEARCH
ASSOCIATION, EM BONA, 13 X 5 M.
O Prof, J. Gutjahr, director do ILB, desenvolveu uma tcnica ho
ficos, pode ser criado um grande e intenso padro hologrfico.
Os hologramas produzidos especialmente para serem coloca-
dos no exterior de edifcios, e incorporados de maneira a di-
fractarem a luz do dia atravs da janela para o interior, podem
reduzir os custos de iluminao e poluio do ambiente.
Eduardo Kac trabalha na fronteira da investigao cientfica, en-
trando em parcerias com laboratrios cientficos, conforme ne-
cessita para o desenvolvimento do seu trabalho artstico.
Em Genesis I, uma instalao transgnica, Kac criou um gene sin-
ttico atravs da traduo de uma frase em ingls do Velho Testamento para cdigo Morse, e
depois de cdigo Morse para ADN, de acordo com um cdigo desenvolvido por Kac especialmente
para esta obra.
CI ANTEC
// 47 //
EDUARDO KAC, GNESIS, 1, 1999 // OBRA TRANSGNICA LIGADA
INTERNET
Os traos do cdigo Morse representam a timina,
os pontos a citosina, o espao entre as palavras a
adenina e o espao entre as letras a guanina; as-
sim, tm-se os quatro constituintes fundamentais
do cido desoxirribonucleico ou ADN, cujas com-
binaes formam o alfabeto ou cdigo gentico.
O gene foi introduzido em bactrias, que foram
postas em placas de Petri. Na galeria, as placas
foram colocadas sobre uma caixa de luz ultravioleta, controlada por participantes remotos na
Web. Ao accionar a luz ultravioleta, participantes na Web causam mutao do cdigo gentico
e assim mudam o texto contido no corpo das bactrias. Aps a exposio, o gene foi de novo
traduzido para ingls e a frase publicada online na seco em ingls do site de Kac.
Eduardo Kac trabalha actualmente na segunda fase deste projecto. O desenvolvimento de Gene-
sis 2 sobre a protena produzida pelo gene sinttico, criado em Genesis I.
5- CONCLUSO
Em concluso, sejam quais forem as formas de pesquisa que se procurem desenvolver, procu-
rando novas formas de arte atravs de novos media e novos vocabulrios, de novas linguagens,
estar sempre subjacente o pensamento associado praxis artstica. Pensamento e praxis, que
no seguem apenas uma direco unvoca, do artista para o pblico, mas onde h uma recipro-
cidade expressa na interveno do pblico, que permite novas possibilidades e novas leituras,
criando ainda novas interrogaes sobre quem o autor e qual o carcter da obra, que se torna
mutvel e efmera. Em nossa opinio, nesta dualidade de pensamento e praxis, a que se vem
associar a reflexo sobre o produto realizado, que se pode desenvolver a Investigao em Arte.
PAULA REGO: MEMRIA, IDENTIDADE E ARTE CRIAO,
DESTRUIO E RECRIAO EM SUAS OBRAS DE 1959-1965
MARIA DEL MAR VZQUEZ MANZANO - DOUTORA EM ESTUDOS DE ARTE PELA UNIVERSIDADE
DE AVEIRO.
RESUMO // O objetivo deste trabalho articular e analisar os desdobramentos da relao existente
entre o contedo subjetivo da artista memria e identidade e a sua produo artstica no per-
odo de 1959 at 1965. A articulao desses elementos se torna compreensvel a partir da lgica
que desconstri os acontecimentos mais significativos que permeiam as runas de suas memrias,
CI ANTEC
// 48 //
o contexto scio-histrico que fundamenta o processo dinmico de construo continuada de sua
identidade, e da forma como esses elementos reverberam dinamicamente em suas obras.
Palavras-CHAVE // Paula Rego, produo artstica, identidade sociocultural, crtica e histria da
arte.
RESUMEN // La finalidad de este trabajo es articular y analizar los prolongamientos de la relacin
existente entre el contenido subjetivo de la artista memoria e identidad y su produccin artstica
en el periodo de 1959 hasta 1965. La articulacin de estos componentes se hace comprensible
desde la lgica que desconstruye los eventos ms significativos que impregnan las ruinas de
sus memorias, el contexto socio-histrico que fundamenta el proceso dinmico de construccin
continuada de su identidad, y de la forma como estos componentes afluyen dinmicamente en
sus obras.
PALABRAS CLAVE // Paula Rego, produccin artstica, identidad scio-cultural, crtica y histria del
arte.
H uma parte de mim muito, muito forte em Portugal, mas fao uso disso
muito melhor aqui na Inglaterra do que l.
Paula Rego
Paula Rego (1935) uma artista portuguesa que vive e trabalha em Londres (permanentemente)
desde 1976. Sua formao artstica se deu na Slade School of Fine Arts de Londres entre 1952
e 1956. Na infncia, vivida em Portugal, estudou na St. Julians School, uma escola inglesa em
Carcavelos.
Desde muito cedo, a artista foi apresentada a um ambiente familiar culturalmente rico, permeado
por ideais polticos republicanos e liberais. A famlia mantinha relaes com as culturas francesa
e inglesa. O pai era anglfilo e a me havia sido educada na tradio franco-portuguesa.
Alm de ter sido influenciada por estas culturas, a infncia da artista foi constantemente atraves-
sada pela tradio oral de ouvir e contar estrias, como tambm foi cercada de livros de estrias
infantis, por espetculos de peras e de imagens dos filmes de cinema. Essas experincias
assumiram um papel fundamental no seu desenvolvimento scio-afetivo, criativo e artstico e na
construo da sua identidade sociocultural.
Outro elemento que concorre para a construo da identidade o contexto scio-histrico e pol-
tico no qual a artista se insere e, sobretudo, como ela interpreta e atribui significados a esses ele-
mentos. Corroboramos o pensamento de Manuel Castells, no qual o autor afirma que a construo
de identidades vale-se da matria-prima fornecida pela histria, geografia, biologia, instituies
produtivas e reprodutivas, pela memria coletiva e por fantasias pessoais, pelos aparatos de poder
e revelaes de cunho religioso
53
. Porm, o autor completa o seu pensamento assinalando que
todos esses materiais so processados pelos indivduos, grupos sociais
53 CASTELLS, M. (2002), O poder da i denti dade. A Era da i nformao: economi a, soci edade e cul tura, (trad. de Kl auss
Brandi ni Gerhardt, p. 23.
CI ANTEC
// 49 //
e sociedades, que reorganizam seu significado em funo de tendncias
sociais e projetos culturais enraizados em sua estrutura social, bem como
em sua viso de tempo/espao
54
.
Diante disso, faremos uma pequena digresso retrocedendo no tempo para assinalar os aspectos
mais significativos que marcaram a histria de Portugal, naquele perodo.
A ditadura militar se instala em Portugal em 1926 e se estende at 1933, quando Antnio de Oliveira
Salazar (1889-1970) assume definitivamente a direo do Pas e funda o Estado Novo. O Estado
Novo se configura como um regime autoritrio que se manteve no poder at 1974, calcado na tra-
dio contra-revolucionria: Deus, ptria, autoridade, famlia e trabalho. Em seguimento ditadura
militar de 1926, o salazarismo nasce sob o signo da obedincia ao Estado, da censura feroz da
polcia (PIDE Polcia Internacional e de Defesa do Estado), da servido incondicional ptria
e aos bons costumes, da recusa peremptria da luta de classes, da negao do individualismo
liberal, do repdio ao socialismo e da desaprovao do parlamentarismo.
Quanto s questes culturais e artsticas do pas, Salazar tinha plena conscincia do poder pol-
tico que a arte possui e da importncia da identidade cultural de um povo, deixando muito clara
essa percepo ao criar, em 1933, o SPN Secretariado de Propaganda Nacional. Mais tarde,
em 1944, esse rgo passa a se chamar SNI Secretariado Nacional de Informao, Cultura
Popular e Turismo.
Uma das atribuies que o SPN/SNI tinha a seu cargo consistia em ilustrar plasticamente uma
imagem positiva do regime. Para tanto, tornava-se necessrio aplicar diretivas precisas, tais
como incutir a ideologia salazarista, fomentar o turismo como meio de autopromoo do Estado
por meio da edificao da imagem de um pas feliz e em paz consigo prprio e enaltecer a cultura
popular como um princpio de integrao social, voltado s classes sociais menos favorecidas,
perfazendo uma cosmtica enganosa da auto-representao da nao portuguesa.
Sobretudo, o SPN/SNI tornava-se um instrumento eficaz de rigoroso controle social, atravs da
manipulao do tempo ocioso, do tempo dedicado ao lazer pelos trabalhadores, disponibilizan-
do-se as atividades socioculturais, tais como o teatro, cinema, bailado, exposies de arte, es-
paos culturais, etc., estritamente de acordo com o programa cultural, norteado pela valorizao
dos estilos autctones populares e folclricos, e atendendo-se a compromissos assumidos com
a poltica do regime.
Salazar pretendia tambm, erigir uma arte que representasse a ideologia do regime. Contudo,
o que emerge superfcie a ausncia de um estilo criado pelo salazarismo. Na realidade, fo-
ram sucessivos e diversos estilos contrastantes, [a]s artes plsticas que o regime produziu, ou
animou, direta ou indiretamente, no que fez e no que autorizou, no constituem, portanto, um
bloco
55
, pelo contrrio, a arte salazarista cristalizou um discurso auto-institucional que, certa-
mente, desenhava com afinco um modernismo que no se pretendia verdadeiramente moderno,
nomeadamente na implicao ideolgica e poltica de ser moderno. Por outras palavras, o regime
aspirava construir um modernismo condicionado poltica do pas, sem digresses, especfico,
54 Idem.
55 PORTELA, A. (1987), Sal azari smo e artes pl sti cas, 2. edi o, Bi bl i oteca Breve, v. 68, Li sboa: Insti tuto de Cul tura e
L ngua Portuguesa - Mi ni stri o da Educao e Cul tura, p. 129
CI ANTEC
// 50 //
didtico, direto e pedaggico.
Contudo, a dcada de 1960 foi animada por uma efervescncia de nomes e tendncias artsticas
decorrentes do processo de conscientizao da abertura formal e temtica, ocasionada pelo enfra-
quecimento de rgos oficiais de promoo e difuso artstica e, em parte, pelo estabelecimento
de relaes artsticas com o panorama internacional da arte, o que alterou de forma irreversvel a
capacidade do mbito artstico e cultural nacional de se integrar s inovaes mundiais.
Com este breve resumo sobre o contexto scio-histrico, poltico e cultural de Portugal do per-
odo em questo, e da sucinta biografia da infncia da artista, ilustramos uma parte significativa
do repertrio subjetivo e imagtico que configura suas memrias, como tambm, assinalamos a
familiaridade, desde muito jovem, com outras culturas. E, assim, desconstrumos os elementos
que fundam a identidade sociocultural da artista e o repertrio de acontecimentos que constituem
suas memrias. Posto isso, avanamos para o passo seguinte, a saber, como sua inscrio cultu-
ral se reflete tanto na abordagem quanto na escolha da temtica e da imagtica de suas obras.
No final dos anos 1950, aps um breve perodo de reformulaes estticas, no qual Paula Rego
tencionava libertar-se do academicismo formal proposto na Slade School, e do encontro positivo
com a obra de Jean Dubuffet (1901-1985), decididamente ela desenvolve sua linguagem visual
e seu prprio mtodo de trabalho.
E atravs da tcnica da colagem que a artista encontra a liberdade desejada para desenvolver
sua produo artstica. As obras desse perodo se encontram entremeadas por mltiplas fontes:
notcias de jornais, memrias da infncia, cinema, narrativas textuais populares e literrias, e
acontecimentos do cotidiano. Todos esses elementos esto inter-relacionados com suas experi-
ncias de vida, que, alm disso, imprime nas obras sua viso pessoal, crtica e subjetiva da rea-
lidade poltica da poca, onde expressa seu descontentamento e indignao diante dos dramas
sociais decorrentes do regime ditatorial.
Basicamente, o seu mtodo de trabalho consiste em desenhar, cortar, colar, justapor e sobrepor
fragmentos de imagens na tela, configurando assim, uma imagtica repleta de figuras hbridas
e disformes. Ela tambm pratica algumas intervenes na superfcie como: arranhar, rabiscar e
fazer garatujas, encerrando nesse gestual uma certa violncia. O processo de construo dessas
imagens pretende desconstruir previamente qualquer indcio de imagem textual a fim de anular
qualquer relao pr-existente entre o significado imediato dos desenhos criados e a alocao da
composio visual ou at mesmo com o resultado final da obra, muito mais voltado ao processo
de feitura do que prpria finalizao.
A disposio dos campos pictricos interligada por zonas de ao narrativa, ou seja, um aconte-
cimento pode se desdobrar em diversos campos simultaneamente, anulando a ordem cronolgica
de temporalidade, sobrepondo contextos e situaes diversas. Os limites fsicos das telas, embora
sejam de grandes dimenses, no so suficientes para conter a exploso de cores e formas que
se metamorfoseiam violentamente em seres biomrficos e/ou disformes, extrapolando a extenso
da superfcie e materializando a energia ilimitada das obras.
A contundncia da temtica e da imagtica de obras como Sempre s Ordens de Vossa Exceln-
cia, 1961, Manifesto, 1965, Regicdio, 1965, Foi Estabelecida a Ordem, 1961, Aurora Ibrica, 1962,
CI ANTEC
// 51 //
Salazar a Vomitar a Ptria, 1960, Quando Tnhamos uma Casa de Campo, 1961, Refeio, 1959, O
Exilado, 1963, ou Ces Vadios de Barcelona, 1965, entre outras, bastante eloqente ao revelar
seu cunho poltico por meio da criao de argutas estratgias que sintonizam a esfera pblica e
privada, atrelando-as s referncias pessoais da artista e criando poderosas imagens procedentes
do enrgico processo de feitura.
FIG. 1 PAULA REGO. CES VADIOS
DE BARCELONA, 1965. COLAGEM E
LEO S/TELA, 160 X 185 CM.
FIG. 2 PAULA REGO. SALAZAR A
VOMITAR A PTRIA. 1960, LEO S/
PAPEL, 104 X 120 CM.
Assim, se estabelece uma relao fsico-emocional entre a artista e a obra no processo de cria-
o e feitura, que ocorre simultaneamente, pois o criar e o fazer so indissociveis porque so
espontneos, materializando a violncia impingida s formas que se contorcem e se esmagam
contra o espao pictrico do quadro. Como bem observa Fiona Bradley, [a] artista falou do
prazer fsico e intelectual que retirava deste ciclo de criao, destruio e recriao, insistindo
particularmente na estreita relao entre praticar violncia numa forma e faz-la nascer
56
.
Esse prazer fsico e intelectual obtido desse processo pode ser interpretado como sendo o desejo
da afirmao de si. Ou seja, essa vontade de ser pressupe a fundao de um sujeito, um sujeito
afirmativo, uma artista que insiste no gesto de destruir formas para romper com uma realidade que
se torna previsvel atravs de formas pr-decodificadas. A destruio entendida como morte da for-
ma e a recriao vista como o nascimento da forma, tenciona propor uma nova realidade subjetiva.
Realidade essa que s se torna possvel na e atravs da obra, onde figuras disformes propem o
inesperado, uma vez que nada no processo da obra determinado a priori. A obra torna-se assim, o
espao por excelncia onde ela questiona e avalia a sua prpria condio de sujeito e de artista.
Entre 1965-1966, Paula Rego realizou sua primeira exposio individual na Galeria de Arte Mo-
derna, na Sociedade Nacional de Belas Artes de Lisboa. A exposio foi muito bem acolhida pela
crtica e pelo pblico, que consideraram suas obras extremamente inovadoras, embora ela tam-
bm tenha sido rotulada na poca por alguns como uma artista poltica que desenvolvia mtodos
de trabalho e imagens violentas.
Definitivamente, o reconhecimento internacional como uma grande artista contempornea se deu
nos anos de 1990, quando Paula Rego foi convidada para ser a primeira Artista Associada da Na-
tional Gallery de Londres.
56 BRADLEY, F.(2002), Paul a Rego, Li sboa: Quetzal Edi tores/Bertrand Edi tores, p.10.
CI ANTEC
// 52 //
Para concluir, pode-se compreender a articulao entre Paula Rego: memria, identidade e arte da
seguinte forma: a artista explora uma temtica a partir de seu repertrio scio-afetivo local. Ou seja,
o referencial de suas memrias e a interpretao e atribuio de significado dos elementos que fun-
dam a sua identidade vm das suas razes portuguesas que influenciam fortemente o seu trabalho.
Entretanto, suas obras possuem simultaneamente um discurso internacional, sobretudo no que se
refere s questes estticas, mas sem perder o sentido da prpria identidade portuguesa.
ARTE E TECNOLOGIA: UMA HISTORIA PORVIR
PAULA PERISSINOTTO - ARTISTA E PRODUTORA CULTURAL FORMADA EM ARTES PLSTICAS
PELA FAAP, MESTRE EM POTICAS VISUAIS PELA ECA, ESCOLA DE COMUNICAO E ARTES DA
USP E MESTRE EM CURADORIA E PRTICAS CULTURAIS EM ARTE E NOVAS MDIAS PELO ME-
CAD/ESDI, EM BARCELONA, ESPANHA.. PROFESSORA DE ARTE E TECNOLOGIA NO CURSO DE
GRADUAO EM ARTES PLSTICAS DA FASM FACULDADE SANTA MARCELINA EM SO PAULO,
CAPITAL. DESDE 1999 SE ENVOLVEU COMO ARTISTA COM A CULTURA DIGITAL, PARTICIPANDO
DE EVENTOS COMO: ISEA INTERNACIONAL SOCIETY OF ELECTRONIC ART 2002 - ORAI, EM
NAGOYA, JAPO, EM 2000- NO ISEA, EM PARIS. SELECIONADA PELA FUNDAO VITAE PARA
O SEMINRIO DE TCNICAS DIGITAIS EXPERIMENTAIS EM MULTIMDIA E INTERNET, REALIZADO
PELA FUNDAO ANTORCHAS, EM BARILOCHE, EM 2000. PARTICIPOU EM VARIAS MESAS RE-
DONDAS E PALESTRAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. DESDE 2000 CO-FUNDADORA E ORGA-
NIZADORA DO F I L E-FESTIVAL INTERNACIONAL DE LINGUAGEM ELETRNICA HTTP://WWW.FILE.
ORG.BR, ORGANIZAO CULTURAL NO GOVERNAMENTAL SEM FINS LUCRATIVOS QUE PROMOVE E
INCENTIVA AS MANIFESTAES ESTTICAS CULTURAIS E CIENTFICAS LIGADAS CULTURA DIGITAL
Vivemos hoje um mundo em transio, uma eterna passagem entre o obsoleto e o novo. Atravs
da evoluo das telecomunicaes somos sistematicamente colocados a par de todos os acon-
tecimentos do mundo. Diariamente nos bombardeiam com informaes vindas de qualquer parte
do planeta, desde as catstrofes naturais at os avanos da cincia, das violncias humanas,
das descobertas cientficas e dos escndalos polticos. () improvvel absorver tudo, quanto
impossvel ser imune a tudo.
Esta condio transitria e de acumulo de informao no privilgio de algumas reas e fato
em qualquer campo de atuao seja nas grandes cincias, na medicina, na gentica, na enge-
nharia, no direito, no jornalismo, no comercio, nas atividades domesticas e etc. Todos buscam
ajustes s novas regras impostas pela fuso tecnolgica na sociedade contempornea.
A partir de que momento houve fuso entre a Arte e a Tecnologia?
O vinculo da Arte e da Tecnologia no recente. Desde o inicio do sculo XX existia uma neces-
sidade latente, de alguns artistas da vanguarda modernista, como os futuristas italianos e os cons-
trutivistas russos, em dar vida s artes plsticas e para tal, torn-la mais tecnolgica. Salv-la do
estigma de arte esttica. Os construtivistas russos Naum Gabo e Anton Pevsner deixam claro esta
tentativa em seu manifesto realista, de 1920, quando em uma de suas cinco reivindicaes sugerem
a renuncia iluso milenar da arte que sustenta serem os ritmos estticos os nicos elementos das
CI ANTEC
// 53 //
artes plsticas e pictricas. A partir da, o desafio em dar dinmica as artes foi aderido por muitos
artistas e desde ento se produziu uma grande diversidade de obras. Dentro dessa pluralidade,
pode-se perceber que o ponto em comum entre elas residia no apenas na presena da dinmica e
na preocupao dos artistas em induzir a participao do espectador, mas tambm o surgimento de
uma relao interdisciplinar das artes com outras disciplinas. Esta relao multidisciplinar passou
a ser as solues para realizao dos trabalhos que dependiam de tcnicas especificas desen-
volvidas por outras reas tais como; a mecnica, a tica, a engenharia e mais tarde a eletrnica
e a ciberntica.
Em 1955, no Manifesto do Maquinismo de Bruno Munari, ele anuncia que; Se o mundo em que
vivemos, o mundo das mquinas, devemos como artistas, adentrar este universo maquinal, e
domin-lo.
Esta preocupao em dominar a maquina fica evidente nas obras de Jean Tinguely, como um
dos artistas que explora sem limites o significado da mquina, buscando sua essncia ao retirar
sua utilidade, desafiando seus perigos e aludindo a sua esttica na era do maquinismo. Tinguely
alm de se aprofundar e explorar o domnio da mecnica inaugura a obra co-autorada e legitima
a relao interdisciplinar das artes com a engenharia.
Em 1960, o artista solicitou a Billy Klver assessoria tcnica para a construo de uma escultura
que seria apresentada no jardim do MOMA, Museu de Arte Moderna de Nova York. Homage to
New York tinha como proposta ser uma obra autodestrutiva. A contribuio do engenheiro foi
basicamente a criao do projeto de sistema das mquinas construindo para obra uma dinmica:
a bomba de pintura, os odores qumicos, os fazedores de barulho e o fragmentador dos pedaos
de metais determinavam o ritmo da performance.
Essa apresentao inspirou uma gerao de artistas em Nova York. Eles passaram a imaginar
obras a partir de possibilidades tecnolgicas. Depois de assistir performance Homage to New
York, o artista Robert Rauchemberg aproximou-se de Billy Klver, para que tambm o assesso-
rasse a desenvolver suas propostas interdisciplinares. Esta parceria viria a produzir experincias
notveis no campo da arte e da tecnologia, nos Estados Unidos. Criou-se o grupo EAT Experi-
mental Art and Technologie. Billy Klver passou a ser consultor no apenas s obras de Tinguely
e Rauchemberg, mas tambm a vrios outros artistas e performers, tais como: Andy Warhol,
Jasper Johns, John Cage, Merce Cunningham, David Tudor, Lucinda Childs, Yvonne Rainer e
Robert Whitman.
Ainda nessa mesma poca, com uma abordagem j ligada eletrnica Nicholas Schffer fez uso
da ciberntica, da eletrnica e da tecnologia avanada para a construo de obras interativas no
campo das artes, da musicologia e da arquitetura. O artista d incio a interao da arte com um
movimento eletrnico inteligente a partir da teoria de Norbert Weiner autor do livro Ciberntica
e sociedade. As esculturas cibernticas de Nicholas Schffer podem ser vistas como pioneiras
em explorar a interao digital e as propostas artsticas que num futuro breve passam a utilizar
hardwares e softwares.
Hardwares e softwares tornaram-se elementos totalmente absorvidos pela vida cotidiana no final
do sculo XX. Com uma evoluo atroz dos equipamentos e dos programas e mais o acesso a
CI ANTEC
// 54 //
Internet a tecnologia hoje capaz, cada vez mais de se infiltrar em todas as reas de atuao, nos
permitindo de forma indita explorar novos contextos, controlar, vigiar, proteger e prevenir. Isto tem
gerado mudanas sociolgicas (novos termos, novos comportamentos, novas formas de comuni-
cao) que transformam nitidamente a sociedade. Na arte especificamente nos deparamos com
as Novas Mdias.
Como decodificamos o termo Novas Mdias? Como navegamos pelas correntes das artes do s-
culo XXI? Quais so as caractersticas desta expresso esttica? Como a arte tradicional compre-
ende este universo?
Genericamente Novas Mdias significa um meio de comunicao baseado em tecnologia digital
com acesso a Internet. Durante as duas ultimas dcadas esta tecnologia tem causado mudanas
substancias que transformaram o meio de comunicao, sua distribuio e o seu sistema de
regulao. Novas Mdias tambm tem sido empregado para designar uma nova categoria das
artes visuais aos projetos de arte que envolve uma base tecnolgica digital. A historia da arte
se concretiza atravs de identificar, de categorizar, de interpretar, de descrever e de pensar os
trabalhos de arte. Pode-se ento conferir que esta nova categoria j consta como parte estrutural
da cultura em alguns paises no mundo ocidental tais como; a ustria, a Alemanha, a Inglaterra,
a Holanda, a Finlndia, a Austrlia, o Canad e o EUA.
Desde os anos 90 as obras de arte consideradas parte desta nova categoria podem ser identi-
ficas em grandes festivais internacionais especializados em mostrar este tipo de manifestao
esttica; O Ars Eletrnica em Linz, o V2 em Rotterdam, o VIDA em Madrid, o FILE, em So Paulo,
no RIO e atualmente em Porto Alegre entre outros. So poucos os centros de arte no mundo
especializados em Novas Mdias. Durante esta ltima dcada percebemos que algumas insti-
tuies tradicionais vm aos poucos abrindo espao para esta nova arte. Um exemplo disto a
Bienal de Veneza de 2007, em que pavilhes como o do Mxico, o da Rssia, o da Hungria, o da
Espanha e o de Taiwan optaram por mostrar artistas que fazem uso das ferramentas tecnolgicas
para realizar seus trabalhos. A Internet tambm um ambiente expositivo. Neste caso sem a
intermediao de uma curadoria ou da poltica de um espao fsico como as dos museus, das
galerias e dos centros culturais.
Uma das caractersticas destas obras a diversidade de linguagens que entre atualizaes
de programas, plugins, navegadores, sistemas operacionais e da evoluo das linguagens de
programao os artistas, os arquitetos, os historiadores, os literatos, os msicos e os filsofos
pesquisam formas de expresso atravs de cdigos e de bits; a Robtica, a Inteligncia Artificial,
os Jogos, o Hipertexto, a Rede, a Interface so alguns dos exemplos desta diversidade que ca-
racterizam a cultura digital.
A diversidade e a metamorfose das linguagens estabelecidas pela cultura digital geram controvr-
sias; euforia e desconforto inerentes ao novo e ao desconhecido e que consequentemente acabam
transformando valores e conceitos.
Para a arte tradicional compreender este universo necessrio superar alguns conceitos rgidos
que baseiam sua existncia. Como, por exemplo, o conceito de autoria. Na cultura digital comum
criar atravs de parcerias e, portanto pode haver uma desintegrao do artista como autor. Alem
CI ANTEC
// 55 //
disso h mutaes no papel da curadoria e da expectativa do publico desta arte. As propostas expo-
sitivas so comumente experincias de uma relao indita da obra com o publico. Uma relao que
supera a fruio, a contemplao e ate mesmo a participao. J o curador passa a ter um papel
muito mais de catalisador e organizador destas experincias do que mentor de um discurso meta-
lingstico de cada obra exposta. Uma outra metamorfose advinda do universo digital, pelo menos
por enquanto, o seu arquivamento, pois arquivar o digital continua um mistrio, o que produz
desconforto para os colecionadores de arte e para os museus. Entretanto um dos impedimentos de
uma comunicao eficaz entre as Novas Mdias e a Arte Tradicional ocorre porque muitas vezes
profissionais da rea cultural no se sentem familiarizados com o universo digital e, portanto optam
por desconsider-lo. Isto dificulta sua legitimao. Entende-se que as transformaes culturais
se reconhecem atravs do tempo o que pode muitas vezes sugerir uma comunicao imediata
improvvel, mas nunca impossvel.
Parece cabvel aqui para encerrar uma parfrase adaptada ao sculo XXI Se o mundo em que
vivemos, o mundo dos cdigos, devemos como artistas, produtores culturais e pensadores
contemporneos, adentrar a este universo de zeros e de uns, e domin-lo.
CRIAO NA REDE: CONTEXTUALIZAES // SISTEMA
DE ARTE CONTEMPORNEA: ENTRE O FLNEUR E O
HACKER
RICARDO M.S. TORRES - SOCILOGO, INVESTIGADOR CEAS/ ISCTE E CRIA. MESTRAN-
DO EM SOCIOLOGIA PELO ISCTE.
RESUMO // Actualmente a Internet surge como um novo ambiente de produo simblica. Importa,
pois, perspectivar analiticamente o seu contexto, numa tentativa de melhor compreender produ-
o, consumo, aceitao, exposio e categorizao de criaes artsticas.
PALAVRAS-CHAVE // arte; internet; sociedade; mudana; flneur; cyberpunk.
No h obras geniais que no cheguem ao papel
J.P. Pereira
PSILON, 15 Agosto, 2008
No auge da Revoluo Industrial Europia dos sculos XVIII e XIX e aps a Revoluo Francesa
CI ANTEC
// 56 //
de 1848
57
surgiu uma nova figura literria o flneur. Esta figura, muito trabalhada por Baudelaire,
representava um indivduo que se deslocava pela cidade como forma de a compreender, embora tal
fosse feito de forma desligada do seu contexto circundante. Esta conceptualizao extremamente
importante para alm do seu significado literrio pois representou toda uma forma de tentar lidar
com as profundas alteraes sociais da poca. Com o surgir da cidade industrial redefiniram-se
papis sociais, alteraram-se as articulaes entre instituies sociais decorreu uma profunda
alterao do tecido social, registando-se, tambm, novas formas de relacionamento entre homem
e mquina.
Tudo isto reflectiu-se numa nova forma de pensar a relao entre homem e sociedade. Simmel,
que perspectivava a experincia urbana de forma negativa, e Schutz, conceptualizaram o es-
trangeiro. Schutz atribui, claramente, um papel de solido ao estrangeiro que, na tentativa de se
inserir no grupo, experiencia uma grande tenso na assimilao e adaptao a uma pauta cultural
que lhe estranha. Assim, o conhecimento que possui no lhe serve como guia para a interaco
com os membros do novo grupo. No h, assim, nenhuma garantia para o estabelecimento de
uma experincia colectiva integradora; o estrangeiro no passa a iniciado, no podendo partilhar
a verdade. Mas este tem uma posio ainda mais privilegiada do que o iniciado, em virtude
do seu ponto de vista externo, podendo compreender melhor o interior a partir da sua posio
externa. Aps compreender as configuraes simblicas do seu novo grupo passando por
um processo de ajustamento social perder a sua condio de estrangeiro. J para Simmel, o
estrangeiro ocupa um lugar especfico no grupo em que se encontra, passando a ser concebido
como uma forma singular e positiva de participao. O seu olhar tem alguma objectividade em
relao aos restantes membros do grupo, pois no se encontra mergulhado nos limites e incon-
gruncias daquela realidade social. O seu olhar , desta forma, privilegiado e reconhecido pelos
restantes elementos, podendo, at, ser funcional, permitindo ao estrangeiro jogar com a sua
posio. Ele encarado como algum originrio de uma outra configurao espcio-temporal,
no pertencendo socialmente aquele ambiente simblico, que est, simultaneamente, perto e
afastado. O seu percurso simblico vai ser, contudo, de fora para dentro do grupo.
Estas conceptualizaes tericas representam uma nova forma de os indivduos se relacionarem
com o espao. O surgimento da sociedade industrial levou a que todo o relacionamento com o
espao simblico assumisse novos contornos.
No sculo XX surgiu uma outra figura literria, que levantou novas questes relativamente a essa
mesma relao. Com efeito, o hacker do movimento literrio cyberpunk revela paralelismos se-
melhantes ao flneur de Baudelaire. O hacker no mais do que a forma de lidar com uma
nova reconfigurao profunda do espao simblico, mediada por tecnologia. Se anteriormente
o resultado seria a sociedade industrializada, alienante do indivduo, agora o percurso final de-
sembocaria na distopia ps-industrial, tambm ela alienante do indivduo, onde a tecnologia muda
rapidamente e invade o corpo humano, onde tudo computadorizado e armazenado
58
. Estas fi-
guras tm em comum uma perspectiva de alienao e afastamento da realidade, reflectindo, no
57 Que marcou o i n ci o de uma autnti ca onda de processos revol uci onri os por toda a Europa, provocando al teraes
si gni fi cati vas a n vel pol ti co e fi l osfi co.-
58 Person, L., Notes Toward a Postcyberpunk Mani festo i n Nova Express, 19, 1998 (di spon vel em http://sl ashdot.org/
features/99/10/08/2123255.shtml ).
CI ANTEC
// 57 //
fundo, o posicionamento de quem experiencia momentos de transio profunda e acelerada entre
realidades sociais. O afastamento dos protagonistas em relao realidade ficcional no mais do
que o reflexo da vivncia quotidiana de muitos indivduos que necessitam de se adaptar a uma nova
realidade diria.
Ora, se as novas realidades projectadas no incio da era industrial acabaram por se materializar
em maior ou menor grau, tambm as preconizadas pelo movimento cyberpunk encontram o seu
reflexo no real a cada dia que passa. Desde de cerca de princpio da dcada de 60 que tem sido
problematizada a questo da modificao daquelas que so percebidas como as desigualdades
estruturantes da sociedade. Vrios autores tm constatado a queda de vrias desigualdades eco-
nmicas; o grande esbatimento das desigualdades educacionais; o enfraquecer de barreiras so-
ciais no que diz respeito ao acesso a produtos culturais e ao consumo; e o aumento da mobilidade
social
59
. Estes factos tm sido apontados
60
como originadores de uma estruturao menor de
grupos distintos e perfeitamente identificveis, i.e., uma estrutura de classes claramente definida.
Em ltima anlise, estas perspectivas proclamam o fim das classes sociais.
Estas reconfiguraes sociais tm sido analisadas por vrios autores, bem como os seus efeitos
e consequncias. Segundo Castells
61
, a sociedade actual encontra-se numa fase de transio,
deixando a era industrial e entrando na era da informao. Tal deve-se, especialmente, s no-
vas tecnologias de informao, particularmente as comunicacionais. Apesar dessa transio,
Castells considera que a sociedade continua numa matriz capitalista. O enfoque, agora, est na
informao, que determinante para a produtividade econmica. O poder est, desta forma, nas
redes
62
. O impacto deste novo paradigma leva a que, na organizao do trabalho, os recursos
disponveis sejam focados para projectos e no para funes
63
, aps o que so dispersos. A
possibilidade de um indivduo em participar numa rede depender do que ele pode oferecer a
essa mesma rede. H, assim, uma nova lgica de incluso/ excluso, sendo que no fundo da
hierarquia esto aqueles incapazes de contribuir com algo para a rede
64
. Este processo leva a
uma individualizao do trabalho
65
e o fim do conflito da era industrial, entre classes constitudas
numa lgica de produo. Este posicionamento hierrquico em funo da capacidade de colabo-
rao com a rede ressoa organizao social proposta por Weber. Com efeito, se um indivduo
tem poder numa lgica proporcional ao seu conhecimento, capacidades ou valor do seu trabalho,
tal pode ser apelidado de meritocracia. Assim, se, nesta estrutura social, desaparecem certas
barreiras mobilidade social, as desigualdades sociais assumem novos contornos, levando a
uma diferente estrutura de desigualdades sociais. Como Lash observou, uma consequncia de a
produo de bens informacionais se configurar como o ponto principal da acumulao de capital
o surgimento de uma nova classe mdia, que se desenvolve atravs dos novos lugares ocupa-
cionais que decorrem deste princpio de acumulao
66
.
59 Na soci edade Portuguesa tambm se veri fi caram estas al teraes estruturai s, se bem que num per odo hi stri co mai s
tardi o. As recomposi es veri fi cadas podem ser encontradas no estudo organi zado por Fi rmi no da Costa e Lei te Vi egas
Portugal , que Moderni dade?.
60 Ni sbet, R., The Decl i ne and Fal l of Soci al Cl ass, Paci fi c Soci ol ogi cal Revi ew, 1959, II (1), pp. 119-129.
61 Castel l s, M., The Ri se of the Network Soci ety, Bl ackwel l , 1996.
62 i bi dem, p. 193
63 i bi dem, pp. 13-21
64 i dem
65 i dem
66 Beck, U., Gi ddens, A. e Lash, S., Refl exi ve Moderni zati on, Cambri dge, Pol i ty Press, 1994, pp. 129-130
CI ANTEC
// 58 //
Esta individualizao referida, tambm se torna central na anlise das novas desigualdades elabora-
da por Beck
67
. Segundo este autor, as modificaes, referidas, das condies da populao tm-se
modificado significativamente. E, como consequncia, tem decorrido um progressivo processo de
individualizao, que tem originado uma dissipao das identidades de classe; a perda do apoio
tradicional s distines de classe baseadas no status; e o estabelecimento de processos para a
diversificao e individualizao de estilos de vida
68
. Beck considera que classe tem-se mantido
estvel ao nvel do que pode ser apelidado de condio de classe, mas dissolvendo-se em indivi-
dualismo aos nveis culturais e de aco de classe
69
. Posto de outra forma, as biografias pessoais
de cada indivduo tm-se libertado da sua ligao a categorias de identificao social fixas, tais
como a classe social, mas tambm a famlia, gnero ou ocupao. Tal significa uma individualiza-
o da desigualdade social, que subverte os modelos hierrquicos de classes e estratificao.
E se, como Beck refere, os anteriores processos de individualizao
70
foram resultado da posse
a acumulao de capital, actualmente tal produto do mercado de trabalho e focaliza-se em
torno de competncias de trabalho (como Castells referiu). Com a dependncia das condies
materiais em relao a oportunidades de mercado especficas; com a dissoluo da eficcia da
tradio e de estilos de vida pr-capitalistas; e com o enfraquecimento da conscincia dos laos
de comunidade e das barreiras comunidade, esto criadas novas diferenciaes internas nas
classes, i.e., novas possibilidades dinmicas para a reorganizao das relaes sociais
71
.
Neste novo contexto social, tal como no contexto de Baudelaire, constroem-se novas formas de
perceber a experincia quotidiana; alteram-se os papis e as trocas; alteram-se as instituies.
Vrios autores tm escolhido diferentes formas para representar o contexto social actual. Esta
uma questo fulcral, pois ao faz-lo est-se a delimitar simbolicamente o objecto de estudo.
E, ao optar por incluir certos aspectos nessas fronteiras, outros sero excludos. Bauman, por
exemplo, optou pela metfora da liquefaco
72
. Analisando vrias esferas da sociedade
73
, o
autor refere-se aos efeitos do esbatimento do tecido social. O diminuir do papel do Estado; o
aumento do culto do eu; a diluio da separao entre esfera pblica e privada; a multiplicidade
de identidades so apenas algumas das consequncias. J Beck refere-se a uma sociedade de
risco
74
. Esta nova configurao de sociedade, no sendo uma quebra com o passado, assenta
em trs processos principais: redistribuio da riqueza e do risco; individualizao; e desestan-
dardizao do trabalho.
Ora, tudo isto se reflecte no sistema de arte contempornea
75
, pois as dimenses econmica,
simblica
76
e poltica tm sofrido alteraes significativas, tal como os prprios agentes e eventos.
67 Beck, U., Ri sk Soci ety, Sage, 2007
68 i bi dem, p. 91
69 i dem
70 Nomeadamente os l i gados burguesi a do sc. XVIII e XIX
71 i bi dem, pp. 96-101
72 Bauman, Z., Li qui d Moderni ty, Cambri dge, Pol i ty Press, 2006
73 Trabal ho; Estado; i nsti tui es soci ai s; esfera pbl i ca; vi da pri vada; rel aci onamentos.
74 Beck, U., Ri sk Soci ety, op.ci t
75 Mel o, A., O que Arte, Di fuso Cul tural , 1994
76 Para uma anl i se mai s detal hada das mesmas, A Obra de Arte na Ci bercul tura: Uma nova Forma de Obra, Ri cardo M.S.
Torres e Ins Al buquerque i n Arteconheci mento, coord. El za Aj zenberg, So Paul o, USP, Outubro/2006; A Rede de Internet
e o Observador, Ri cardo M.S. Torres e Ins Al buquerque i n FILE Festi val 2007 GEOMATRIZ, Hbi tos Reconfi gurados,
FILE Festi val Internaci onal de Li nguagem El ectrni ca, So Paul o, Agosto/2007; e Ri cardo M.S. Torres e Ins Al buquerque
i n Cami nhos da Arte para o Scul o XXI, CIANTEC 07, So Paul o, Agosto/2007;
CI ANTEC
// 59 //
Contudo, tais modificaes no tm sido passivamente aceites. De facto, enquanto nos arqutipos
literrios referidas o tnico da resistncia se centrava na figura solitria do protagonista face s for-
as dominantes da sua sociedade o flneur distanciava-se da realidade que percorria e o hacker
lutava contra as corporaes o que encontra actualmente uma inverso quase total de papis
um agarrar desesperado de instituies que vem o seu papel alterado face s novas configu-
raes sociais. Um dos aspectos mais interessantes prende-se com o primado da publicao
77
.
De facto, a internet perspectivada como repositrio de trabalhos menores (de carcter amador,
mesmo), sem valor reconhecido institucionalmente. Pode, assim, ser traada uma comparao
paralela com o nascimento da pintura moderna nas dcadas de 1870 e 1880 a institucionalizao
da anomia
78
.
ENCARAR A LUZ: RETRATOS HOLOGRFICOS 3D
ROSA MARIA OLIVEIRA - DEPARTAMENTO DE COMUNICAO E ARTE, UNIVERSIDADE DE
AVEIRO, ID+ E CLOQ
LUIS MIGUEL BERNARDINO - DEPARTAMENTO DE FSICA, FACULDADE DE CINCIAS, IFI-
MUP,
RESUMO // a Holografia, em termos de desenvolvimento futuro, e apesar dos trabalhos j realiza-
dos, tem ainda muitos caminhos para percorrer, quer seja a nvel do melhoramento de materiais
de registo, quer da resoluo de problemas tcnicos, quer a nvel expressivo e criativo.
H vrios tipos de hologramas, mas os usados com fins artsticos so os de imagem, registados
na maior parte com lasers contnuos de He-Ne ou de rgon. Porm, o registo de hologramas de
pessoas vivas ou de objectos instveis s so possveis usando lasers pulsados, o que obriga a
duas fases de trabalho. A primeira, onde se obtm o holograma primrio, de transmisso e visvel
apenas com luz laser e a segunda, para a obteno do holograma secundrio, de reflexo, visvel
com luz branca. Os hologramas assim obtidos so tridimensionais. Para a realizao destes Retra-
tos Hologrficos 3D, usou-se um laser de Rubi para o registo dos hologramas primrios, usando-se
posteriormente um laser de He-Ne para os hologramas secundrios.
Este projecto de trabalho, na rea da Holografia Artstica, a continuao do trabalho de investi-
gao anteriormente realizado, quer no mbito da tese de doutoramento, quer posteriormente. No
77 Um dos exempl os mai s recentes pode ser encontrado numa entrevi sta a J.P. Perei ra no supl emento PSILON do j ornal
Pbl i co de 15 Agosto, 2008. Tambm Warren El l i s (http://www.warrenel l i s.com/), por exempl o, menci ona vri as vezes o
facto de a percepo geral val ori zar a edi o i mpressa como l egi ti madora da qual i dade do produto.
78 Bourdi eu, P., O Poder Si mbl i co, Di fel , 2001, pp. 255-279.
CI ANTEC
// 60 //
que diz respeito Holografia Artstica, mesmo seguindo caminhos j percorridos, os hologramas
resultantes sero sempre diferentes, devido concepo individualizada e original que cada artista-
holgrafo imprime ao seu trabalho, quer seja na conceptualizao, quer seja na expresso. Como
acontece com qualquer das outras tecnologias artsticas, cada artista usa o medium de maneira
diferente e com diferentes resultados.
O retrato tem sido, ao longo dos tempos, um dos temas mais utilizados na arte. Assim sendo, no
de admirar que tambm na holografia seja um tema considerado importante. O rosto constitui
uma zona corporal privilegiada de comunicao e expresso. O rosto manifesta a emoo interior
atravs de olhares, sorrisos, traos, gestos, movimento constante. Embora, por vezes, o que
expresso possa ser interpretado de maneira equvoca, ambgua, como acontece no retrato da
Mona Lisa, de Leonardo, h o interesse suscitado pela singularidade do que foi captado, que
torna a percepo difcil.
Sendo a Holografia a tecnologia de registo conhecida at ao momento, que representa o objecto
mais semelhante ao original, poderemos cair numa representao mimtica da realidade. H a
necessidade, portanto, de evidenciar uma relao de semelhana entre a imagem e o modelo,
que seja subjectiva, embora partindo de uma realidade objectiva. Isto , transcender o objecto.
PALAVRAS CHAVE // Luz, Lasers, holografia artstica, retratos hologrficos 3D.
ABSTRACT // In terms of future development and despite all the works already carried out, there
are still plenty of ways for Holography to cross, not only as far as expression and creativity are
concerned but also improving recording materials and resolving technical problems.
There are various types of holograms, but image holograms are the ones used for artistic pur-
poses, mostly with He-Ne or Argon continuous lasers. However, recording holograms of living
persons or unstable objects is only possible by using pulsed lasers, which requires two work
steps. The first allows the master hologram to be obtained a transmission master hologram, vis-
ible only in the laser light. The second provides the secondary hologram a reflection hologram,
visible in the white light. Holograms obtained through this method are 3D holograms. In these 3D
Holographic Portraits a Ruby laser was used for the record of the master holograms and then a
He-Ne laser for the secondary holograms.
This work project in the area of Artistic Holography is the continuation of the research carried
out before, both in the scope of my PhD thesis and afterwards. As far as Artistic Holography is
concerned, and even following the already existing tracks, the holograms obtained will always be
different owing to the individualised and original conception that the holograph-artist prints in his
work be it in the conceptualisation or in the expression. Like in any other artistic technology, each
artist uses the medium in a different way, obtaining different results.
Portrait has always been one of the themes mostly used in art. So, no wonder that it is also seen as
an important theme in holography. A face is a privileged communication and expression body zone.
A face shows the internal emotion through the look, smile, traces, gestures, the constant motion.
Though sometimes what is expressed may be misinterpreted or understood in an ambiguous way,
CI ANTEC
// 61 //
like in Leonardos portrait of Mona Lisa, there is an interest aroused by the singularity of what was
captured , which makes the perception all the more difficult.
Being Holography the recording technology known up to the moment that best represents the original
object due to its great similarity, we may be trapped in a mimetic representation of reality. Therefore,
it is necessary to clearly show a relationship of similarity between the image and the model, which
ought to be subjective, though starting from an objective reality. That is, transcending the object.
KEY WORDS // Light, Lasers, artistic holography, 3D holographic portraits.
I. INTRODUO
O retrato como tema, foi, ao longo da histria da arte, um tema recorrente. Plnio, falando da
origem da pintura, refere a inveno dos retratos em argila filha de Butades de Sycione, que se
tinha enamorado por um rapaz; como ele ia partir para o estrangeiro, ela contornou com uma linha
a sombra do seu rosto projectada na parede pela luz de uma lanterna. Em verses diferentes, este
mito retomado por Quintiliano, Alberti, Leonardo da Vinci e Vasari, referindo que a pintura e o re-
trato aparecem ao mesmo tempo, surgindo do acto de contornar a sombra de um rosto projectada
pela luz do sol ou de uma lanterna sobre uma superfcie
79
. novamente a luz que, na holografia,
nos permite retratar um objecto com todo o rigor. Agora de uma maneira diferente, registando a
informao contida na amplitude e na fase da luz.
De uma maneira geral, os textos sobre a funo do retrato insistem sobre a qualidade de pro-
longar a imagem do modelo retratado para alm da ausncia e at da morte. Porm, um retrato
digno desse nome deve ir para alm de uma simples representao, procurando-se que evi-
dencie uma outra realidade, muitas vezes apelidada de alma ou personalidade. Mas, sendo um
retrato, no se deve manter uma certa fidelidade ao modelo? A semelhana j no suficiente
artisticamente; a singularidade da imagem torna-se necessria para ultrapassar a simples re-
presentao de uma imagem esttica, congelada na sua expresso, sendo essa transformao
individualizada que legitima a iluso, tornando a presena viva. No retrato, o que est em jogo
a natureza do referente, que uma pessoa. H no retrato uma fora mgica que equivale a um
contacto real com o outro representado (...) Porque o retrato traz no olhar, na boca, nas rugas, nas
infinitas pequenas percepes que dele emanam, um, dois, vrios mundos. Um retrato sempre
uma multido
80
.
II. TRABALHO ANTERIOR
Num trabalho anterior
81
, a srie de hologramas intitulada Faces, j havia uma preocupao com a
transcendncia da mera representao. Os retratos, bidimensionais, foram tratados aproximando a
holografia dos conceitos aplicados nas outras tecnologias tradicionalmente usadas nas artes plsti-
cas. Sendo hologramas multicoloridos, de cariz expressionista, as cores so vibrantes e puras, mu-
79 Jos Gi l , O Retrato, i n A Arte do Retrato, Quoti di ano e Ci rcunstnci a, Fundao Cal ouste Gul benki an, 2000, pp.11, 17.
80 Jos Gi l , O Retrato, i n A Arte do Retrato, Quoti di ano e Ci rcunstnci a, Fundao Cal ouste Gul benki an, 2000, pp.11, 17.
81 Rosa Mari a Ol i vei ra, Pi ntar com Luz-Hol ografi a e Cri ao Art sti ca, Tese de Doutoramento, Uni versi dade de Avei ro,
2001
CI ANTEC
// 62 //
dando com o ngulo de observao do holograma. A terceira dimenso no foi um pressuposto para
a obteno desses hologramas, privilegiando-se o uso da cor e da expresso (fig. 1). Tecnicamente
foram obtidos pintando-se a emulso com diferentes concentraes de Triethanolamina dissolvida
em gua destilada antes de fazer a exposio, de uma maneira similar ao trabalho realizado para
pintar com aguarelas, ou com outra tcnica habitualmente usada nas artes plsticas. Para saber
com que cor estava a pintar foi necessrio previamente criar uma paleta das cores corresponden-
tes a cada concentrao.
FIG. 1- HOLOGRAMAS DE REFLEXO MULTICOLORIDOS DA SRIE FACES.
III. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO ACTUAL
Os hologramas 3D contm valores icnicos e mimticos impossveis de obter noutra tecnologia,
por a imagem do holograma resultar, na realidade, da informao contida na luz no momento do
seu registo, sendo percebida como se se tratasse do prprio objecto.
Como j foi dito anteriormente, os hologramas de pessoas tm que ser registados com um laser
pulsado, dadas as exigncias de estabilidade requeridas pela tecnologia. Assim, neste trabalho,
cuja temtica o Retrato, tm que ser seguidas diferentes etapas at se chegar ao resultado final,
isto , obteno do holograma que vai ser exposto ao pblico.
A - REGISTO DO HOLOGRAMAS MATRIZES DE TRANSMISSO (PRIMRIOS-H1)
Nesta fase procedeu-se realizao dos Hologramas Matrizes de Transmis-
so (Primrios) (H1), que se registaram utilizando um laser de Rubi de impulsos
com energia de 10J e 30ns de durao, em folhas de filme hologrfico Agfa 8E 75 HD, de 30x40
cm, com emulso de halogeneto de prata. Os hologramas registados mostram uma alta eficincia e
so extremamente realistas
82
.
82 Rosa M. Ol i vei ra, Lu s M. Bernardo and Hel der Crespo, Hol ographi c portrai ts: from real i ty to arti sti c creati on, SPIE-IS&T,
Practi cal Hol ography XVIII: Materi al s and Appl i cati ons, vol .5290, pp.150-155, January 2004.
CI ANTEC
// 63 //
A utilizao de um laser pulsado, cujos impulsos
necessrios para registar o holograma so extre-
mamente curtos, permite que sejam holografados
seres vivos ou objectos com pouca estabilidade.
Esta caracterstica alarga enormemente as possibi-
lidades temticas da holografia, e, numa segunda
fase, permite o consequente tratamento plstico da
imagem tridimensional obtida. Estes hologramas
normalmente no so expostos, porque s podem
ser reconstrudos com luz laser, neste caso verme-
lha (= 632.8 nm), o que dificulta a sua exposio
em condies normais. Na figura 2 podemos ver o
esquema seguido para a sua obteno.
Depois do processamento qumico dos hologramas pri-
mrios, segue-se a sua utilizao numa nova montagem
hologrfica, em que agora a imagem reconstruda pelo
holograma (H1) funciona como objecto no registo do
holograma secundrio (H2), de reflexo, onde pos-
svel intervir de maneira criativa e visvel com luz
branca.
FIG. 2- ESQUEMA DE REGISTO DOS HOLOGRAMAS PRIMRIOS
A- HOLOGRAMAS SECUNDRIOS DE REFLEXO (H2)
Para fazer o registo dos hologramas secundrios (H2), neste caso os Holoretratos, utilizou-se um
laser de He-Ne contnuo, de 35 mW. Nesta segunda fase, feito o registo do retrato hologrfico
a partir do holograma primrio (fig. 3). Foram experimentadas diferentes relaes entre as inten-
sidades da onda objecto e da onda de referncia bem como vrios valores das exposies para
aumentar a eficincia dos hologramas. Para alm de obter a melhor eficincia possvel nos holo-
gramas secundrios, nesta segunda fase ainda se pretende transcender o objecto holografado,
no sentido em que se torna
necessrio ir para alm da
imagem figurativa e icnica,
modelando-a plasticamente
procura de novas formas e
expresses, como exigido
pelo tema do retrato.
FIG 3 - A) MONTAGEM DE REGISTO DOS HOLOGRAMAS SECUNDRIOS; B) PORMENOR DA MONTAGEM (HOLOGRAMA PRIMRIO)
CI ANTEC
// 64 //
Assim, o trabalho desenvolvido nesta fase est centrado em fazer o registo de hologramas secun-
drios (H2), utilizando lasers de emisso de luz contnua, e explorando as diversas potencialidades
dos hologramas deste tipo. O trabalho pensado tirando partido das cores e dimenses das ima-
gens, bem como dos espaos criados nos hologramas, onde a imagem pode ser reconstruda parte
atrs do plano e parte frente, maior num plano recuado do que a que aparece frente, pondo em
causa a percepo adquirida da perspectiva, obrigando a um ateno maior para compreender a
sua totalidade, ou ainda aparecer frente do plano, invadindo o espao do observador. H uma
continuao da experimentao e da explorao do registo hologrfico em diversas situaes e
a obteno de novos efeitos de
expresso plstica, incluindo
o estudo das cores nos holo-
gramas tridimensionais, tendo
como objectivo tambm a
percepo da interactividade
da imagem (fig.4).
FIG. 4- HOLORETRATOS. HOLOGRAMAS
SECUNDRIOS DE REFLEXO (H2),
A PARTIR DE UM NICO HOLOGRAMA
PRIMRIO (H1).
Para isso, utilizam-se diversas
tcnicas, como por exemplo a alterao da espessura da emulso, o que permite a alterao
da cor, e cujo processo j foi objecto de uma investigao realizada e descrita anteriormente
83 e
84
. Para alm disso, incluiu-se na montagem uma lente que produz uma segunda imagem, mais
pequena e focada a uma certa distncia da placa hologrfica, reconstruindo-se mais prximo
do observador e invadindo o espao para fora do plano do holograma. Criou-se, assim, uma
dualidade da imagem original no holograma secundrio, de reflexo. Essa dualidade reforada
pela dupla exposio do holograma, utilizando-se mscaras e registando-se cada imagem numa
cor diferente. Este trabalho est ainda a decorrer, e iro ser utilizados para isso mais Hologramas
Primrios (H1) diferentes do utilizado para este trabalho.
IV. ALTERAO DA ESPESSURA DA EMULSO (PRE-SWELLING)
Para a obteno de diferentes cores nos hologramas de reflexo, procede-se ao prvio tratamento
da emulso. Para isso, necessrio mergulhar a placa, no todo ou em partes, em diferentes concen-
traes de produtos qumicos, sendo a substncia mais usada neste procedimento a Triethanolamina
(TEA). Alm da TEA, tambm a gua destilada, a que se adicionam umas gotas de sabo (wetting
agent) para que se espalhe mais uniformemente, tem um papel importante neste procedimento.
83 Rosa M. Ol i vei ra, Lui s M. Bernardo, Pi nto, Joo L. and Joaqui m M Machado, Col our control i n creati ve hol ography,
SPIE-IS&T, Si xth Internati onal Symposi um on Di spl ay Hol ography, Lake Forest Col l ege, pp.220-224, Jul y 1997.
84 R.M. Ol i vei ra, L. M. Bernardo, and J.L. Pi nto, Mul ti col or hol ography: a comparati ve study, Hol ography 2000, pp.113-
121, Austri a 2000.
CI ANTEC
// 65 //
FIG. 5- FRASCOS COM SOLUES DE TEA
E PARTE DOS INSTRUMENTOS DE TRABALHO
NECESSRIOS MANIPULAO DA EMULSO.
Depois de mergulhar ou pintar a
emulso, necessrio escorrer a
placa com uma borracha, de manei-
ra a no danificar a emulso, deixar
secar e limpar muito bem o vidro da
placa antes de a expor luz. Todas
estas operaes tm de ser feitas
s escuras, ou com o auxlio de uma
luz de segurana, de baixa intensidade, de cor verde, cor a que a emulso usada no sensvel.
O banho no deve ser muito prolongado. No caso das emulses Slavich, 2 a 2,5 minutos so sufi-
cientes para alterar a espessura da emulso e, consequentemente, o comprimento de onda.
Quanto maior for a percentagem de Triethanolamina dissolvida, mais baixo o comprimento de
onda obtido (Tabela 1). Este procedimento tambm aumenta a sensibilidade da placa hologrfi-
ca, porque so produzidas mais franjas de interferncia na emulso. No caso de querermos obter
diferentes cores, necessrio comear sempre pela cor de maior comprimento de onda, isto
do vermelho at ao violeta, e no pela ordem inversa.
S L A V I C H P F G - 0 1
Tempo banho % TEA (nm) Cor obtida
2.5 (min) gua c/ Agepon 635- 625 Vermelho
2.5 1.5% 610- 605 Laranja
2.5 2% 595- 580 Amarelo
2.5 3.5% 555- 550 Verde Amarelado
2.5 5% 540- 535 Verde
2.5 9% 520- 490 Ciano
2.5 10% 460- 455 Azul
2.5 13.5% 430- 420 Violeta
TABELA 1: PERCENTAGENS DE TEA NECESSRIAS PARA A OBTENO DAS DIVERSAS CORES.
Todo este procedimento tem, no entanto, alguns inconvenientes: a) muito difcil conseguir uni-
formidade da emulso, podendo apresentar riscos e manchas que prejudicam alguns tipos de
imagens; b) um processo que consome muito tempo, dado que necessrio deixar secar a placa
antes de a expor luz laser, de cada vez que a inchamos. Assim, um nico holograma pode levar
muito tempo a realizar, sobretudo quando pretendemos que tenha mais do que uma exposio.
CI ANTEC
// 66 //
Verificmos tambm que, resultados obtidos com um determinado lote de placas, podem no ser
idnticos aos que vamos obter com outro lote. Torna-se assim crucial testar o material de cada vez
que aplicamos esta tcnica.
V. PROCESSAMENTO QUMICO
Estes hologramas foram registados em placas Slavich PFG-01 de halogeneto de prata, fornecidas
pela Geola, e no seu processamento qumico usmos o revelador SM-6 e o branqueador PBU-
Amidol, (Tabela 2) conforme o seguinte procedimento: a) Revelao em SM-6, 3 min; b) banho de
paragem-2 min; c) branqueamento em PBU- Amidol- at ficar transparente, (cerca de 2-3 min);
d) lavagem em gua corrente, de preferncia filtrada- 10 a 20 min; e) banho final em gua com
Agepon-1-2 min. Secar temperatura ambiente.
Se o revelador e o branqueador j estiverem armazenados h algum tempo, conveniente au-
mentar o tempo de revelao e branqueamento.
REVELADOR SM-6 BRANQUEADOR PBU-AMIDOL
cido Ascrbico 18gr Persulfato de Potssio 10gr
Hidrxido de Sdio 12gr cido Ctrico 50gr
Fenidona 6gr Brometo de Cobre 1gr
Fosfato de Sdio Dibsico 28,4gr Brometo de Potssio 20gr
gua destilada at 1l Amidol 1gr
gua destilada at 1l
NOTA: ESTE BRANQUEADOR TEM UMA COR CARACTERSTICA
DE VINHO TINTO, QUE VAI CLAREANDO, MEDIDA QUE
PERDE A FORA.
TABELA 2: FRMULA DO REVELADOR E DO BRANQUEADOR USADOS PARA O PROCESSAMENTO QUMICO DOS HOLOGRAMAS
VI. ILUMINAO DO HOLOGRAMA
Os hologramas de reflexo so iluminados pela frente, com luz pontual, normalmente de halog-
nio, incidindo sobre a placa num ngulo igual ao do feixe de referncia usado no registo, para que
o holograma seja visto com a mxima eficincia.
Devido proximidade com o ngulo de Brewster, que para o vidro 56, convencionou-se, entre os
prticos da holografia de imagem, que o ngulo mais apropriado para a iluminao dos hologramas
deveria ser 45, a incidir vindo de cima. Alm disso, devido ao estudo da Teoria das Sombras, com
que os artistas esto familiarizados, h a convico de que este ngulo proporciona a melhor leitura
do holograma, dado que se evita a sombra da cabea do observador sobre o holograma, o que im-
CI ANTEC
// 67 //
pediria a sua viso de forma correcta e total. Esta conveno tambm facilita, a quem est a montar
exposies de holografia, encontrar um ngulo idntico para a iluminao de hologramas feitos por
diferentes pessoas e em diferentes lugares do mundo.
Como no registo, devido ao pr inchamento da emulso, h um ngulo de Bragg para cada cor
registada, na sua reconstituio necessrio que a luz incida no holograma segundo diferentes
ngulos, ou que esteja a uma distncia suficientemente grande, para que a leitura das diferentes
cores se faa ao mesmo tempo.
Esse problema resolvido pela alterao dos ngulos da fonte de referncia das vrias cores, ou
recorrendo inclinao do holograma cerca de 15 durante a reconstituio e exibio.
Agradecimentos
Este trabalho foi realizado no CLOQ (Centro de Lasers e Tecnologias pticas) do IFIMUP e par-
cialmente financiado por uma bolsa de ps-doutoramento da FCT- (Fundao para a Cincia e
Tecnologia).
ANALTICA CULTURAL (CULTURAL ANALYTICS)
LEV MANOVICH - CRTICO, PROFESSOR E PESQUISADOR NA REA DE NOVAS MDIAS, MDIAS
DIGITAIS, DESIGN E ESTUDOS DO SOFTWARE(SOFTWARE STUDIES). LEV MANOVICH MUDOU-SE
NOS ANOS 1980 PARA OS ESTADOS UNIDOS, ONDE REALIZOU SEUS ESTUDOS EM CINEMA E
COMPUTAO. - AUTOR DE SOFT CINEMA: NAVIGATING THE DATABASE (THE MIT PRESS,
2005), BLACK BOX - WHITE CUBE (MERVE VERLAG BERLIN, 2005) E THE LANGUAGE OF
NEW MEDIA (THE MIT PRESS, 2001), QUE FOI CONSIDERADO COMO A MAIS SUGESTIVA E
AMPLA HISTRIA DA MDIA DESDE MARSHALL MCLUHAN. AUTOR DE MAIS DE 90 ARTIGOS
QUE FORAM REPRODUZIDOS MAIS DE 300 VEZES EM VRIOS PASES. MANOVICH PROFESSOR NO
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUAIS DA UNIVERSIDADE DA CALIFRNIA EM SAN DIEGO (UCSD),
DIRETOR DO GRUPO DE SOFTWARE STUDIES NO CALIFORNIA INSTITUTE FOR TELECOMMUNICA-
TIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (CALIT2) E PESQUISADOR VISITANTE NO GODSMITH
COLLEGE (LONDRES) E NO COLLEGE OF FINE ARTS, UNIVERSIDADE OF NEW SOUTH WALES
(SYDNEY). MANOVICH TEM SIDO REQUISITADO PARA PROFERIR PALESTRAS AO REDOR DO MUNDO,
TENDO REALIZADO AT O MOMENTO MAIS DE 270 CONFERNCIAS, PALESTRAS E WORKSHOPS FORA
DOS ESTADOS UNIDOS NOS LTIMOS 10 ANOS.
Um crescente nmero de projetos utilizam a visualizao da informao para diagramar os pa-
dres culturais, suas relaes e dinmicas. As pessoas que esto realizando esse emocionante
trabalho advm das mais variadas reas: arte digital, design de mdia, arquitetura, cincia da com-
putao, computao grfica, comunicao, entre outras. A extenso dessa nova rea da cultura
inspiradora - e tambm faz com que seja difcil acompanhar o seu crescimento. Essa a razo
pela qual ns criamos o Culturevis (www.culturevis.com) .
O Culturevis traz uma seleo dos melhores projetos acompanhados por anotaes crticas. Voc
tambm encontrar uma lista de recursos para criar e refletir sobre as culturas da visualizao: fer-
ramentas de softwares, bases de dados e textos crticos. Ns tambm sugerimos um nmero inicial
CI ANTEC
// 68 //
de gneros com a inteno de auxiliar a mapear esse novo campo.
Os projetos listados no Culturevis sero acompanhados de comentrios crticos escritos pelos mem-
bros do Grupo Software Studies.
SOFTWARE STUDIES E A CULTURA DA VISUALIZAO
JEREMY DOUGLASS - Jeremy Douglass ps-doutorando no Grupo
de Software Studies na University of California, San Diego (UCSD),
afiliado ao Calit2 e ao Center for Research in Computing and the
Arts (CRCA) e ao departamento de Artes Visuais. Jeremy pesquisa
as aproximaes entre cdigo e software para uma possvel crtica
desses meios, utilizando o instrumental analtico das humanidades e
das cincias sociais. O trabalho de Jeremy est presente nos livros
Second Person (MIT Press, 2007), no Iowa Review Web (2006) e em
conferncias como a DAC (2005). Sua tese de doutorado Linhas de
comando: tcnica e esttica na fico interativa e nas novas mdias
(UCSB, 2007) est disponvel on-line. Jeremy escreve para o blog de
novas mdias e arte Writer Response Theory.
O Software Studies um novo campo de pesquisa intelectual que est comeando a surgir.
O primeiro livro que tem essa temtica como ttulo foi publicado pelo MIT Press em Junho de
2008 (Matthew Fuller, Org., Software Studies: A Lexicon). O Grupo sobre Software Studies tem
a inteno de ser a pea chave para estabelecer esse campo de pesquisa na rea acadmica.
Os projetos selecionados se tornaro os modelos de como efetivamente poderemos estudar a
sociedade do software. Atravs de workshops, publicaes, seminrios e congressos na UCSD
e nos laboratrios afiliados, disseminados tanto pela web quanto em publicaes impressas,
pretendemos disseminar a ampla viso do Software Studies na sociedade.
TRANSBORDER IMMIGRANT TOOL: A MEXICO/U.S. BORDER
PUBLIC SAFETY/COMPUTING ARTS RESEARCH PROJECT
BRETT STALBAUM - UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO - CALIFORNIA INSTITUTE FOR
TELECOMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (HTTP://WWW.CALIT2.NET/) - CENTER
CI ANTEC
// 69 //
FOR RESEARCH IN COMPUTING AND THE ARTS (HTTP://CRCA.UCSD.EDU/) - DEPARTMENT OF
VISUAL ARTS (HTTP://VISARTS.UCSD.EDU) - RICARDO DOMINGUEZ AND BRETT STALBAUM (PRIN-
CIPAL INVESTIGATORS) - RESEARCHERS: MICHA CARDENAS, JASON NAJARRO
CONCEPTUAL ORIENTATION
Borders are perhaps the finest example demonstrating material relationships between the virtual and
the real. The human uses of the virtual are ancient. The Venus of Tan-Tan and the Venus Berekhat
Ram are perhaps older than 100,000BCE, but the more securely dated neolithic cave paintings
of sites such as Altimura and Lascaux date to approximately 16,000 years ago. Compared to this
deep history of the spiritual and imaginative virtual, humanity only very relatively recently began to
manipulate the virtual as a resource to control the material world. It was with the development of
written language that the widespread use and distribution of the newly invented phenomenon of
data joined up with the earlier magical virtual. For the first time, a non-magical technology could
track, predict and control the material. This is an important development (often attributed to the
Sumerians), eventually leading to the human ability to totally motorize the virtual and better control
the real. It was the consequent quickening of science and technology over the millenia that have
led to our current circumstances.
It should be unsurprising then that the general teleological trajectory from ancient written lan-
guage to todays information technology is mirrored by general alterations in the constitution and
maintenance of borders. For the hunter-gatherer groups who preceded agricultural societies, we
can safely presume that it was natural boundaries such as bodies of water, mountains, deserts,
resource voids, and routes around and between these natural barriers between survival resources
that would have been the most significant factors in the establishment of spatial divisions betwe-
en competing groups of humans in the landscape. Significant archeological and ethnographic
evidence demonstrates that such groups did indeed maintain territories defining property rights,
but importantly, the constitution and maintenance of the spacial distinctions of ownership and
control utilized diffuse borders instead of hard lines. Complex structures of moral and relative
rights to access resources dominated, fences were unnecessary and therefore unimaginable.
Borders were not yet physical lines on the landscape, rather they were subtle agreements with
complex social rules.
But with the dawn of agricultural era, the invention of writing, and the development of the discipline
of cartography, borders suddenly became more distinctly prescribed and measurable, and their
cultural and economic implications came to be enforced through the power of the city-state and
eventually the nation state. With the arrival of this cartography, the most advanced cartographic
technologies became associated with the most technologically dominant state apparatus; from ear-
ly Portuguese cartographic accomplishments that allowed their conquest of the western coast of
Africa, through the invention of the chronometer and the eventual world dominance of the British
Empire, to the present Global Positioning System invented in and operated by the United States of
America. What are the consequences?
We speculate that yet another important transition in the history of borders arrived with the digital and
CI ANTEC
// 70 //
electronic mechanization of location through data and information in the 20th century. The creation
of tremendously more complex borders between nations now exhibits much of the social complexity,
and indeed odd flexibility, of prehistoric borders. There are certainly many important differences
too, but increases in the communicative and geographic abilities of small devices, mobile phone
networks, their increasing low cost and consequent ubiquity; all of this simply allows new kinds of
complex relations to emerge across the old, hard lines of the mechanized nation state.
The border between the U.S. and Mexico exhibits the co-influence of the virtual and the real. The
harsh deserts of the southwest have undergone a teleological mirror of the history presented abo-
ve. At first the rugged and dangerous terrain was itself geographically daunting, spotted with
patches of survival resources, and a culturally mediated space of spacial relationships was shared
cooperatively by various overlapping groups. Eventually codified as a line on maps via the Treaty
of Guadalupe Hidalgo in 1848 and the Gadsden Purchase in 1854, throughout most of the 20th
century lines of race, culture and cartography worked alongside the natural environment to sort
people using a familiar, (certainly perverse), racial/cultural/social *reverse osmosis*. Pressure di-
fferentials in the two economies mediated a membrane allowing selected flows in both directions.
Today this border is a mixed reality of terrain, transportation, economics and modern surveillance,
including the powerful techniques of both electronic and simulated gaze, and equally powerful
electronic and simulated media images tailored to the preferred beliefs of various political consti-
tuencies on both sides of the border. Communication flows freely, and space is contested around
surprisingly pourous lines.
The Transborder Immigrant Tool project seeks to leverage inexpensive mobile phones and the
now ubiquitous GPS devices that these contain to produce a usable safety tool that immigrants
crossing the deserts can use to find various safety resources. While the tool could eventually be
useful as a virtual coyote, the intention of the project is to mitigate the danger of crossing the
desert by facilitating emergency navigation to safety stations established by humanitarian groups.
A virtual geography can potentially mark new trails and safer routes across this desert of the real.
Geospatial technologies such as GPS and GIS data have enabled novel new relationships with the
landscape emerge, including algorithms that map out suggested trails for real a hiker/or hikers to
follow. The Transborder Immigrant Tool would add a new layer of agency to this emerging virtual
geography that would allow segments of global society that are usually outside of this emerging
grid of hyper-geo-mapping-power to gain quick and simple access to the GPS system, perhaps
complicating flows and allowing a healthy osmosis.
CI ANTEC
// 71 //
NOVAS MDIAS NA EDUCAO: HISTRIAS EM QUADRINHOS
ALBERTO RICARDO PESSOA
RESUMO // As histrias em quadrinhos, assim como qualquer outra forma de manifestao artstica,
tem o potencial de despertar emoes, conhecimento e opinies sobre a prpria sociedade em
que estamos inseridos.
O fascnio da criana em ler e tentar entender aquelas criaturas fantsticas com os seus gritos de
guerra espremidos em bales e onomatopias chamou a ateno dos educadores em torno de
um meio de comunicao simples, barato e de rpida aceitao pelos alunos. J no so raros os
colgios que possuem gibitecas em suas instalaes ou fanzines produzidos pelos alunos.
Entre os elementos que os quadrinistas destacam na utilizao de quadrinhos como mtodo de
aprendizado, cito o processo de leitura, a associao de palavras e imagens, e principalmente
no despertar da criatividade que os quadrinhos exibem. Versteis, os quadrinhos so uma fonte
de aprendizado em vrios segmentos da educao. Da arte seqencial o indivduo pode extrair
noes de design, arquitetura, desenho, tipologia, produo de material editorial, narrao, colo-
rizao (digital ou manual), arte final em nanquim, estilizao entre outros.
Mas, como os educadores lidam com esta nova mdia? Apenas a leitura das histrias em qua-
drinhos podem ser consideradas atividades ldicas, de ensino e entretenimento? Como realizar
atividades escolares utilizando os quadrinhos?
O objetivo deste artigo apresentar propostas pedaggicas em quadrinhos para diversas disci-
plinas do ensino bsico e mdio, estudadas em minha dissertao de mestrado Quadrinhos na
educao uma proposta didtica para educao bsica e propor debate acerca da veiculao
desta nova mdia no currculo regular de ensino.
PALAVRAS-CHAVE // Arte, novas tecnologias, Meios, comunicao. educao
ABSTRACT // Comics, as like any kind of media, hs the power of create emotions, knowledge and
opinion about the society that we are living.
Educators had noticed the magic that comics creates in the kids with their heros, colors and
adventures. Comics are a simple mean of communication, cheap and has great results between
students, that can read comics into the colleges.
The lecture, pictures and expressions and the creative art are the elements that we can suggest to
include in a regular program of studies in a class. The student also can study design, typograpy,
coloring, drawing, writing, character design, etc.
But how can the teachers teach this elements using comics in basic education?
The goal fo this article is present suggestions and ideas using comics in education that I studied in
my Master thesis Comics in education a purpose to the basic education and discuss about the
importance of this mean of communication at the regular school.
Key- Words // Art, New tecnology, Media, Communication, Education
CI ANTEC
// 72 //
COMO INSERIR AS HISTRIAS EM QUADRINHOS NA EDUCAO?
A anlise deve comear por dissecar a estrutura do prprio quadrinho. Avaliar os elementos que
propiciam aprendizado sejam eles tcnicos, concretos e abstratos. Considerar o que de fato des-
perta o interesse do indivduo na leitura desta mdia e qual o potencial que os quadrinhos tm na
formao do leitor enquanto formador de opinio.
Em uma sala de aula importante que o educador estabelea a alfabetizao do aluno em relao
esta mdia.
WILL EISNER considera a leitura da revista de quadrinhos um ato de percepo esttica e de
esforo intelectual.
A configurao geral da revista de quadrinhos apresenta uma sobreposi-
o de palavra e imagem, e assim, preciso que o leitor exera as suas
habilidades interpretativas visuais e verbais. (EISNER, 2000, P.08).
O leitor precisa estar familiarizado com elementos constituintes dos quadrinhos, tais como bales
de texto, onomatopias, caracterizao de personagens, seqncia da diagramao da pgina,
percepo visual das cores e a capacidade de agregar a sua imaginao a leitura de palavras e
imagens que esto inseridas em todos os quadros de uma pgina de uma histria em quadrinhos.
Para uma pgina de quadrinhos ser produzida pelo autor, necessrio que o artista conhea
uma srie de elementos como Psicologia (valores sociais), Fsica (leis de gravidade), Arquitetura,
Design, Roteiro, Diagramao, Anatomia, Perspectiva, e elementos tcnicos como caracteriza-
o de personagens, tratamento de imagem, impresso e distribuio do produto finalizado.
A construo de uma histria em quadrinhos em uma escola pode ser uma atividade ministrada
por diferentes disciplinas, pois trata-se de uma mdia flexvel na sua elaborao e qualquer tema
pode ser debatido neste tipo de linguagem. Os quadrinhos podem ser um instrumento valioso
na educao em atividades interdisciplinares como Histria, Geografia e Artes podem atuar em
torno de um assunto comum usando os quadrinhos, j que esta linguagem tem como meta contar
uma histria usando imagens, seqncias e textos. A prtica de leitura, j enfatizada pelos PCNs
e pela maioria dos educadores, utilizam as histrias em quadrinhos em sala de aula. O intercm-
bio entre outras artes outro fator positivo na incluso dos quadrinhos em sala de aula. O aluno
se v estimulado produzir pequenos contos, entender conceitos de design, desenho, caligrafia.
Estes conceitos podem ser usados em teatro (construo de roteiros, textos e story-boards, que
define a seqncia das aes dos personagens), msica (cenrios e material de divulgao) e
artes visuais (fundamentos de desenho e tcnicas artsticas).
Outro fator importante nas histrias em quadrinhos o fato de se tratar de um material consumido
pelo aluno fora do mbito da educao, o que torna a atividade pedaggica uma novidade dentro
da sala de aula.
A CONSTRUO DO PERSONAGEM NAS HISTRIAS EM QUADRINHOS
A construo de uma histria em quadrinhos gira em torno dos personagens que a representa en-
CI ANTEC
// 73 //
quanto trama e concepo ideolgica do autor.
O aluno ir realizar personagens, ao menos em um primeiro momento, baseados em revistas j esta-
belecidas no mercado como os super-heris de comics ou personagens oriundos do mang. Neste
caso, matrias como Fsica e Qumica podem discutir as origens cientficas de alguns heris e a
probabilidade de ser real ou no criao de um Homem de Ferro ou um Super-Homem.
No entanto, o professor pode incitar no aluno questionamentos acerca dos personagens que ele
criou ou copiou. Quem ele? Qual a misso dele? Por que ele um bom personagem? so
exemplos de perguntas que iro gerar reflexes nos alunos acerca do prprio trabalho.
A construo de um autor e leitor crtico de histrias em quadrinhos precisa ter carter desmistifi-
cador na formulao de personagens, sem seguir as linhas esquemticas que norteiam a criao
de quase todos os heris americanos e japoneses.
Na Amrica Latina autores de quadrinhos ou historietas que obtiveram xito comercial e de crtica
realizaram personagens que no se afastaram da realidade latina e ao desmistificar os super-
heris, o fazem conscientes de uma problemtica que envolve uma srie de questionamentos
sociais.
Um exemplo so os Quadrinhos do personagem Vira-Lata, que foi inicialmente realizado para
distribuio interna no presdio do Carandiru, em So Paulo, e mais tarde foi distribudo por todo
os pas pela revista Animal. Com superviso cientfica do Doutor Druzio Varella, textos de Paulo
Garfunkel e desenhos de Lbero Malavoglia, o personagem Vira-Lata tem como mensagem moral
a conscientizao do uso de preservativos nas relaes sexuais. Problemas como violncia e
desigualdade social tambm so abordados. Muitos alunos so interessados em debater estes
temas e realizar HQs baseadas em seus universos artsticos (Grafite, o Hip-Hop entre outras
manifestaes populares).
COMO CONTAR UMA HISTRIA EM QUADRINHOS EM SALA DE AULA?
Definido os tipos de personagens que iro representar a histria contada pelo autor, necessrio
estabelecer a modalidade que se adapta melhor ao tipo de histria que o autor pretende escrever
e desenhar.
As tiras so consideradas a menor clula de produo de uma histria em quadrinho, tendo em
mdia trs quadros seqenciais por tira. Originados para serem publicados em jornais, a carac-
terstica das tiras so piadas curtas, irnicas, que remetem o leitor a uma reflexo acerca de um
determinado assunto ou opinio. A plstica das tiras so, no entanto, limitadas devido ao espao
reservado em jornais, ficando limitado a um retngulo fragmentado em trs partes.
Este tipo de quadrinho o indicado para os alunos que nunca tiveram contato a produo desta
mdia, pois trata-se de um processo simplificado, tanto nos desenhos quanto na escrita. A cpia
de outros super heris nem sempre possvel neste formato, pois geralmente o aluno l histrias
de super heris ou mangas que possuem em mdia 100 pginas de texto e desenhos. A prtica de
simplificao de idias e traos auxilia na produo de personagens e tiras originais.
CI ANTEC
// 74 //
FIG 01. APENAS UM DESENHISTA LATINO AMERICANO, DE ALBERTO PESSOA. AS TIRAS RESULTAM EM HISTRIAS DO COTIDIANO COM
HUMOR E IRONIA. FUNDAMENTAL AO AUTOR DE TIRAS REALIZAR UM TRABALHO DIRETO E SIMPLIFICADO, DEVIDO AO POUCO ESPAO
DISPONVEL PARA DESENVOLVER UMA HISTRIA EM QUADRINHOS.
As histrias em quadrinhos podem ser produzidas em outros formatos, como histrias curtas
(de 01 10 pginas) e histrias de longas com uma trama mais elaborada e projeto artstico, as
chamadas Graphic Novel. Estes tipos de trabalhos so sugeridos para trabalhos de longo prazo,
como atividades de extenso, grupos de pesquisa ou atividades interdisciplinares que compre-
endam o semestre ou ano letivo.
Por fim, o educador pode estimular a publicao destas histrias em quadrinhos, atravs de
revistas impressas artesanalmente, os chamados fanzines ou ainda publicar em um site, blog ou
espaos de autores de quadrinhos na Internet como o www.comicspace.com .
Todas estas aes so importantes para avaliar o retorno da produo em quadrinhos que o edu-
cador realizou em classe, bem como na formao do autor de quadrinhos, que ir ser avaliado
no somente pelo educador, mas por um pblico que ter acesso ao seu trabalho.
CONSIDERAES FINAIS
A arte seqencial pode ser realizada tanto individualmente como em grupo. No ltimo caso, os alu-
nos podem trocar experincias na criao dos personagens, nos desenhos e roteiros e gerar, dentro
da atividade proposta, um nvel de cooperao e participao difcil de ver em outra atividade.Esses
argumentos so suficientes para demonstrar a validade do ensino de quadrinhos em escola p-
blica? Acredito que no. preciso um estudo mais profundo sobre a arte analisada, seu impacto
na educao, tanto no aluno como na Instituio Pblica (Escola, Secretaria de Educao, Minis-
trio da Educao, etc) e a validade do aprendizado dessa arte para o professor. Ter apenas uma
viso entusiasta dos quadrinhos geraria uma ode, e no uma pesquisa sria sobre o assunto.
BIBLIOGRAFIA
EISNER, Will. Quadrinhos e arte Seqencial. So Paulo: Martins Fontes, 1999.
CI ANTEC
// 75 //
MANIFESTAES ESTTICO-EXPRESSIVAS: NOVAS
COMPETNCIAS EMANCIPATRIAS?
BERTA SUSANA ROLA MONTEIRO TEIXEIRA, - UNIVERSIDADE DE COIMBRA - DOUTORANDA EM
SOCIOLOGIA DA CULTURA, CONHECIMENTO E COMUNICAO.
RESUMO // Partindo da assumpo de que as prticas/racionalidades esttico-expressivas so, na
sua pluralidade, vitais procedimentos para a construo de outras formas de nos tornarmos com-
petentes, gostaria, nesta comunicao, de dialogar sobre a eventual novidade de certas manifes-
taes esttico-expressivas e reflectir sobre o seu efectivo carcter emancipatrio.
ABSTRACT // Assuming that aesthetic-expressive manifestations are, in their plurality, vital proce-
dures towards the construction of other ways of becoming competent, I would like, with the present
paper, to discuss its eventual novelty and to think about its effective emancipatory feature.
Palavras-chave // Artes, competncias, emancipaes, cidadanias, constelaes.
No CIANTEC07, em interveno on line, tive oportunidade de concluir que os caminhos da arte
para o sec. XXI podem ser desbravados, entre outras, pelas seguintes maneiras: pela conju-
gao/articulao dos seus praticantes e respectivas trajectrias e prticas; numa tentativa de
construir uma plataforma de entendimento-criao entre reas supostamente autnomas porm
permeveis ao potico; provocando dilogos entre linguagens e intervenientes distintos; perse-
guindo uma prtica artstica integral e inclusiva, reveladora de dimenses informais, dos seus
factores invisveis e indizveis, sem silenciar ou ocultar outras; potenciando uma cultura do movi-
mento em que a compreenso da regra funcione como corolrio da pesquisa do desalinho; pelas
ligaes estreitas entre cincias-artes-saberes-tecnologias quando nos referimos ao entendimen-
to da gnese da forma.
No interessa tanto, conclu, desvendar se o novo melhor do que o velho-antigo, urge averi-
guar com responsabilidade (atentando aos possveis impactos noutras reas da humanidade) da
sua especificidade e das interaces que este novo revela, transporta e encerra na construo
da(s) forma(s) da(s) contemporaneidade(s). Sempre no plural.
Partindo da assumpo de que as prticas/racionalidades esttico-expressivas so, na sua plura-
lidade, vitais procedimentos para a construo de outras formas de nos tornarmos competentes,
gostaria, nesta comunicao, de dialogar sobre a eventual novidade de certas manifestaes
esttico-expressivas e reflectir sobre o seu efectivo carcter emancipatrio. Recorrendo aos es-
pectculos e aos value practice discourses apresentados no Encontro Transnacional de Grupos de
Teatro do projecto Teatri Migranti (http://www.teatrimigranti.eu/blogs/?q=pt) no mbito do Programa
Cultura da Comisso Europeia, tentarei repensar o contributo dos legados artsticos na reinveno
de prticas e modalidades de (saber) fazer e promover um entendimento que mobilize o ser humano
para um urgente reposicionamento perante certos valores dominantes desumanizantes.
Aos convnios em Bruxelas-Blgica e em Coimbra-Portugal deve seguir-se, em Bari-Itlia em Ou-
CI ANTEC
// 76 //
tubro de 2008, o ltimo encontro desta parceria. Para a breve e processual reflexo proposta nesta
comunicao, concentrar-me-ei nas actividades desenvolvidas em Coimbra (24/25.07.08), pelo que
as eventuais consideraes devem ser entendidas como trabalho ainda em desenvolvimento. Voya-
ges Interieurs (CPAS/La Vnerie http://www.lavenerie.be/), Theatre Picture Show (ELPENDU http://
www.elpendu.it) e Lendas de Celstia (APPC http://apc-coimbra.org.pt/qta-conraria) foram os
espectculos apresentados na Oficina Municipal de Teatro de Coimbra. Partirei da experincia
incorporada deste ltimo, pois nele desempenhei funes de direco do processo criativo e de
actriz.
As Lendas de Celestia, so narrativas dramatizadas que invocam os vrios temas e situaes
abordados pelos nossos
1
actores: a despedida, a chegada, o sonho, a desiluso, a coragem e o
desalento de partir e a ansiedade de chegar. Os distintos corpos foram ficcionados em colectivo
2
na tentativa de responder a suspenses como: Porque viaja o ser humano? Para onde vai ou
levado? O que consigo carrega? Para alm das memrias indelveis, que objectos materializam
essa emergncia de um actualizado antigo ser na sua aspirao a um estado condigno de huma-
nidade? O indivduo pela dor e pela felicidade transfigura-se em sujeito, porm quando no tem
e/ou lhe retiram/inviabilizam os documentos declarado como ilegal. De cidado resta-lhe pouco
porque um silncio ontolgico que o funda como subalterno s lhe deixa uma via: a do trabalho
que amide redunda na explorao.
Pelo dilogo e pela interpelao do real foram sistematizados os temas e as eventuais situaes.
Construram-se personagens imaginrias e foram escolhidos objectos simblicos para a criao
da dramatizao. A improvisao, outras vezes, destronou opes tidas como muito acertadas
e pertinentes. A lgica destes corpos, categorizados como deficientes, induziu a elaborao
teatral numa potica do ser e do estar
3
, do aqui e agora, em vez dela se tirarem e cristalizarem
ilaes. Cada quadro poderia corresponder a uma lenda, das que no se querem repetidas, por-
que chegam a ferir, mas que se constituem em narrativas geracionais que atribuem sentidos ao
nvel individual e colectivo. Narrativas que so essenciais elaborao das representaes que
as emolduram e reinveno e actualizao das realidades que se vivem. Como Celstia no
existe lugar nem pessoa. Em Celstia os tempos so fragmentados para que se tornem intelig-
veis e meream registo de atpicos ritmos. Celstia vai escutando as pulses dos actores que
auto-compem melodias assentes no contratempo e no contragosto. Com Celstia apanhamos
o transporte das emoes. Para Celstia sonhamos ir um dia apesar da noite. De Celstia
resta-nos imaginar o que no entendemos. Por Celstia arriscamos o gesto criativo. As Lendas
de Celstia pretendem ser um contributo para essa empreitada, sendo que a grande tarefa
mobilizar o nosso aparelho cognitivo para outras formas de nos tornarmos competentes.
Nesse ginsio dos sentimentos e de experincias, que pode ser a criao teatral, o exerccio de
base vem sendo o de redescobrir corpos com tempos e espaos prprios, com formas/volumes
1 Cerca de 20 actores perfazem o total dos utentes da rea ocupaci onal de Teatro da Qui nta da Conrari a. Com i dades
compreendi das entre os 16 e os 55, so i ndi v duos aos quai s foi di agnosti cado vri os ti pos de defi ci nci a.
2 Tentando responder pergunta Para que que serve o teatro? M. H. Serdi o num arti go i nti tul ado Fi cci onar o corpo
em col ecti vo si stemati za e l egi ti ma o Teatro enquanto uma si ngul ari dade parti l hada, exerci da pel a i nterpel ao cr ti ca,
como cri ao cul tural que faz i mpl i car os actores num vi ver soci al produtor de nexos e senti dos (1998: 53-58).
3 Sobre as i denti dades ou, em bom ri gor, i nteri denti dades, numa arti cul ao estrei ta com o concei to de gl obal i zao e
pl ural i dade, resul tando num fenmeno hi stri co, di nmi co, rel aci onal e si tuaci onal mente consti tu das, porquanto, to nego-
ci adas quanto fi cci onadas, l ei a-se a compi l ao de arti gos organi zada por Ramal ho e Sousa (2001).
CI ANTEC
// 77 //
particulares que estimulam outros mo(vi)mentos. As respiraes dos actores sopram medos e oxi-
genam sonhos simples que uma medicalizao do corpo inviabilizou porque (a)talhou a vida num
padro corpreo to hegemnico quanto gil e hbil. O recorte das suas figuras mentais e fsicas
continua colonizado
4
por valores de beleza, funcionalidade e de produtividade vigentes no contexto
de modernidade ocidental globalizadora. Estes valores silenciam os seus impulsos originais indmi-
tos, que existem e que no deveriam necessitar de permisso/adequao para estar.
FOTO ENSAIO 1 O SEM ABRIGO (TIAGO
LOPES)/ TNIA MADUREIRA
Nas manifestaes esttico-expres-
sivas de nfase teatral um dos pro-
cedimentos comuns para perseguir
nveis de criatividade o da des-
construo. Neste caso, que o do
teatro realizado por pessoas tidas
como deficientes, a verdadeira hu-
mildade deveria passar por poten-
ciar a procura de uma prxis prpria
a estes corpos, sem ilustraes das
modalidades vigentes, deixando
que novas linguagens permeveis ao potico possam emergir to natural quanto emancipato-
riamente. A falsa humildade insistir que se reproduzam as prticas do corpo tornado padro:
justamente esta social naturalizao que limita. Acontece que o natural dos actores do teatro da
Quinta da Conraria de uma organicidade tal que surpreende o tempo e o espao, desafia a gra-
vidade das emoes e desacredita qualquer rigor racional. Todavia, existe uma sociedade que
insiste numa mimesis de prticas que at a eles os convence. Esta tentativa de reproduo de
modalidades hegemnicas instala-se como um objectivo de trabalho imperativo: o importante
fazer e tornar visvel aquilo e como os outros sabem e conseguem fazer. Cabe, pois, aos tcnicos
e artistas envolvidos na coordenao/orientao destes actores contrariar esta tendncia e ferti-
lizar uma potica outra que neles reside e fervilha, mostrando-lhes que essa aquela que vale a
pena dar boa e espectacular visibilidade: a beleza das suas autnticas formas - sempre no plural
e em articulao, porque no existe uma s forma... Quando chegamos a uma, ela compsita.
Da novidade do teatro ou da forma teatral no reclamo muita certeza. Agora da atitude cosmopo-
lita, porquanto de cidadania plural, que o exerccio de certas manifestaes esttico-expressivas,
incluindo as de nfase teatral, pode efectivamente fomentar na mobilizao e desenvolvimento de
competncias emancipatrias, estou visceralmente convencida.
Que competncias podem ser estas que, quando potenciadas e/ou traduzidas pelas manifestaes
esttico-expressivas, recriam um ser humano em pleno direito ao reconhecimento (privado e pbli-
4 Santos (2006) prope um processo de descol oni zao que v al m dos terri tri os e abranj a o prpri o pensamento que o
norte gl obal tende a perpetuar excl ui ndo e si l enci ando al gumas das suas nti mas partes. A questo corprea pode ser en-
tendi da como uma matri a al tamente col oni zada em vi rtude da l egi ti mao de certos padres e margi nal i zao de outros.
CI ANTEC
// 78 //
co) da sua diferena? Eu responderia: a capacidade de percepo e vivncia (de si e do outro) a
diferentes escalas e profundidades, a versatilidade emocional e a inteligncia corprea. A primeira
requer uma ateno e vigilncia sensvel, a segunda convoca a nossa predisposio para a guerra
e para a paz, para o amor e para o dio, e a terceira joga-se com regras potenciadoras do improviso
criando estratgias dinmicas.
Que instrumentos fornecem estas prticas esttico-expressivas para o desenvolvimento de uma
aco de cidadania plural, porquanto, cosmopolita possibilitada pela articulao com o outro?
Porque, muitas vezes, os processos criativos na sua origem so caticos, eles obrigam a uma
constante renegociao das escolhas. Estas so sabidas pelos seus praticantes porque as vo
sentindo no corpo-alma individualmente e/ou em colectivo pelo menos no teatro. Assim sendo,
um instrumento crucial para o acto de (es)colher a capacidade de reposicionamento. Po-
dendo escolher, importante que se possa informadamente e em conscincia tomar opes,
reconhecendo a existncia de vrias possibilidades (artsticas e/ou humanas) do eu que toma o
outro em considerao transfigurando-se em eus, reais e/ou simblico-teatrais.
As sociedades modernas ocidentais altamente mercantilizadas, onde o ter rouba vergonhosa-
mente o ser, ajudam a fazer sentir o Teatro como um nada. Porm, justamente esse nenhures
que permite reconstruir indivduos em seres humanos com a legitimidade de serem diferentes
para no os subtrair da igualdade de ser e de estar. Estes sujeitos tornam-se, pelas manifesta-
es esttico-expressivas, competentes na sua particular condio de existncia. O meu corpo-
padro hegemnico de actriz em processo interactivo com estes corpos diferentes apreende-se
incompetente, incapaz e improdutivo porque, muito dificilmente, saberei fazer como eles, tornan-
do as nossas formas de expresso distintas, todavia, no excludentes entre si.
FOTO ENSAIO 2 NA ESTAO (SNIA SILVA E VASCO
SEQUEIRA)/TNIA MADUREIRA
A outra escala, aceitando que a socie-
dade e cultura so dois aspectos que
condicionam toda a criao e produo
artstica, e que cada sociedade e corres-
pondente cultura pode explorar formas de
expresso distintas demonstrando no seu
modo de (saber) fazer as suas principais
caractersticas (relacionando-se assim
com o momento contemporneo), no sei
bem se o fazem directa e linearmente. Isto porque, no s as sociedades no so homogneas,
como jamais as culturas so absolutas e estanques. Por outro lado, os mo(vi)mentos contempo-
rneos so mltiplos e vo acontecendo a contra-tempo na sua disparidade de naturezas. A noo
de permeabilidade e de transversalidade no caracterstica apenas do presente futuro. O passa-
do est impregnado de invisveis cruzamentos de olhares e de direces que, no houvessem sido
CI ANTEC
// 79 //
silenciados, subalternizados e ocultados em pensamentos abissais5, certas rotas (de legitimao)
da criao haveriam vingado pela sua desautorizada beleza e surpreendente novidade. As cons-
telaes (territorial, comercial, poltica, cultural, social) que incluem pontos de partida/passagem
como por exemplo Angola-frica, Brasil-Amricas e Portugal-Europa so prova incomensurvel que
na arte se materializa a essncia do ir, do estar e, sobretudo, do voltar alm. Quando se regressa
6
nunca retomamos o ponto de partida. Esse j ficou aqum... das nossas futuras estrias das artes
que, por isso mesmo, j podem ser feitas de regressos transdisciplinares reinventados.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS:
Ramalho, Maria Irene. Ribeiro, Antnio Sousa (ogrs.) (2002), Entre ser e estar. Razes, discursos e percursos
da identidade. Porto: Afrontamento.
Ribeiro, Margarida Calafate (2004), Uma Histria de Regressos Imprio, Guerra Colonial e Ps-colonia-
lismo, Porto: Afrontamento.
Santos, Boaventura de Sousa (2006), A gramtica do tempo para uma nova cultura poltica, Porto: Afron-
tamento.
Santos, Boaventura de Sousa (2008), A filosofia venda, a douta ignorncia e a aposta de Pascal, Revista
Crtica de Cincias Sociais, 80, (p. 11-43).
Serdio, Maria Helena (1998), Para que que serve o Teatro?, Teatro Escritos Revista de Ensaio e Fic-
o, Instituto Portugus das Artes do Espectculo/Livros Cotovia: Lisboa.
ARTE, ARQUITETURA E BIOLOGIA; CO-REALISMO NA
OBRA DE FREDERICK KIESLER
CAROLINE CABRAL ROCHA - MESTRANDA PELO PROGRAMA DE PS-GRADUAO INTERU-
NIDADES EM ESTTICA E HISTRIA DA ARTE-USP; ESPECIALISTA EM ESTUDOS DE MUSEUS DE
ARTE PELO MUSEU DE ARTE CONTEMPORNEA DE SO PAULO-USP; ARQUITETA E URBANISTA
PELA UNESP.
RESUMO // Esta comunicao trata de um levantamento histrico das influncias arquitetnicas nos
espaos expositivos. A comunicao prope uma releitura do espao expositivo considerando a
concepo espacial sugerida por Frederick Kiesler no sculo XX e a atual concepo espacial
de Lars Spuybroek.
Frederick John Kiesler, nascido em 1890 em Czernowitz ou Tschernovitz, antigo imprio Austro-
Hungaro, dedicou sua vida e obra ao estudo do espao e de sua relao com o indivduo. Kiesler,
5 Sobre a procura especul ati va do conheci mento enquanto componente central da cul tura humana que vai al m da
moderni dade e seu pensamento abi ssal http://www.ces.uc.pt/bss/documentos/Para_al em_do_pensamen-
to_abi ssal _RCCS78.PDF e do norte gl obal , consul te-se Epi stemol ogi as do sul (2008) RCSS 80.
6 Ri bei ro (2004) parti ndo de concei tos de i denti dade, i magem e i mpri o no i magi nri o pol ti co e l i terri o portugus, faz
uma anl i se da soci edade portuguesa resgatando a i magi nao teri ca contextual i zada hi stori camente e actual i zando
ci enti fi camente essa l ei tura l uz dos cri tri os i nternaci onai s. Fundamentada em Boaventura Sousa Santos e no pensamento
de Eduardo Loureno, a autora reel abora o concei to de i magi nao do centro que, neste contexto, serve a mi nha i dei a de
vol tar al m . As margens sero sempre i magi nadas pel os centros e o eventual regresso ao centro, tambm el e pass vel de
ser i magi nado por si e pel as margens que tenta sustentar, ser sempre um regresso que ul trapassa o ponto de parti da.
CI ANTEC
// 80 //
apontado como um expoente dentre artistas visionrios do sculo XX, desenvolveu conceitos teri-
cos, artsticos e arquitetnicos, sobretudo entre os anos 20 e 60, em Viena e Nova Iorque. Artista,
terico e arquiteto ligado s artes visuais, design e ao teatro, inova aplicando seus conceitos de Vi-
sion Machine, Co-realismo e Biotcnica. Suas obras, pouco conhecidas no Brasil, aconteceram
sob solicitao de grandes nomes como Marcel Duchamp e Peggy Guggenheim. Contemporneo a
artistas da Bauhaus, a futuristas, a construtivistas, Kiesler funda seus prprios conceitos artsticos.
Dentre suas principais obras temos Space Stage, sucesso em Viena, o City in Space em Paris,
o Endless Theater, a Endless House, hoje ttulo de livros, o espao museogrfico para o The
Art of This Century Gallery em Nova Iorque, e a sua obra ainda aberta para visitao, The Shrine
of The Book, em Jerusalm. Todas suas obras se fundamentam no seu Manifesto Co-realista, que
compreende os conceitos de funcionalidade, natureza fsica, flexibilidade, tecnologia, biotcnica
e sensibilidade.
Seu olhar para o futuro, para as novas mdias e manifestaes da arte, para as correlaes do
indivduo e do meio onde este est inserido, permitiu que seus conceitos de espacializao de
obras de arte fossem resgatados na contemporaneidade atravs das obras de arquitetos e artis-
tas do sculo XXI, sobretudo na obra do arquiteto holands Lars Spuybroek, que cita e espacia-
liza estudos de Kiesler na exposio Vision Machine em Nantes, Frana, 2000. Spuybroek, do
grupo NOX, aplica nos dias de hoje os conceitos de corpo e movimento interligados arquitetura.
Atualmente, boa parte das obras de Kiesler pode ser encontrada no Austrian Frederick and
Lillian Kiesler Private Foundation, em Viena.
PALAVRAS-CHAVE // co-realismo; arquitetura; biotecnologia; design; arte.
ABSTRACT // This paper is a historical survey of the architectural influences on expositive spaces.
It proposes a rereading of the expositive design by considering the conception of space as sug-
gested by Frederick Kiesler in XX century and the one held by Lars Spuybroek.
Frederick John Kiesler, born in 1890 in Czernowitz or Tschernovitz, former Austro-Hungarian em-
pire, dedicated his life and workmanship to the study of space and its relation with the individual.
Kiesler, assigned as an exponent amongst visionary artists of 20th Century, developed artistic,
theoretical and architectural concepts mainly between the 20s and 60s, in Vienna and New York.
As an artist, theoretician and architect on visual arts, design and theater, he innovates with the
application of his concepts of Vision Machine, Co-realism and Human Engineering. His art-
istry, scarcely known in Brazil, happened under request of great names as Marcel Duchamp and
Peggy Guggenheim. He Kiesler was coetaneous of the Bauhaus artists, futurists, constructivists,
and developed his own artistic concepts. Amongst his main workmanships we have Space Stage,
a success in Vienna, City in Space in Paris, the Endless Theater, the Endless House, today
book title, the museographic space for the The Art of This Century Gallery in New York and his
workmanship still opened for visitation - The Shrine of The Book, in Jerusalem. All his works are
based on the Co-realist Manifest, which embraces understands the concepts of functionality, physi-
cal nature, flexibility, technology, human engineering and sensitivity.
Its look for the future, for the new medias and manifestations of the art, for the correlations of the
CI ANTEC
// 81 //
individual and the way where it is inserted, allowed his concepts over art spatialization be rescued
now a days through the workmanships of architects and artists of the 21st century, overall in the
craftsmanship of the Dutch architect Lars Spuybroek, that cites and espatializes studies of Kiesler in
the exhibition Vision Machine in Nantes, France, 2000.
At present, Spuybroek, from the NOX group applies the concepts of linked body and movement to
the architecture. Currently, good part of the workmanships of Kiesler can be found in the Austrian
Frederick and Lillian Kiesler Private Foundation, in Vienna.
ARTE, ARQUITETURA E BIOLOGIA; CO-REALISMO NA OBRA DE FREDERICK KIESLER
Na contemporaneidade, os espaos expositivos esto passando por uma fase de transio rela-
cionada com a pluralidade de formas de expresso da arte. O espao quadrado, tambm deno-
minado de cubo branco, que segue padres especficos arquitetnicos, como a altura em que a
obra deve estar posicionada em relao ao cho, a iluminao adequada, a temperatura ideal e
o conforto sonoro, j no atende s inmeras propostas apontadas pela arte contempornea. O
local e o como a obra est exposta ao pblico fundamental para a apreenso, recepo esttica
e leitura da obra de arte. Quando nos confrontamos com um ready-made, com uma obra interati-
va, uma instalao, uma performance, fica claro que os espaos expositivos no seguem neces-
sariamente a premissa de garantir a neutralidade do lugar, para assim garantir uma autonomia
da obra
7
, mas se integram, proporcionando ao visitante daquele espao uma maior participao
sensvel em relao obra de arte, uma correlao de valores. Tendo em vista que para a arte
contempornea a relevncia no est nas questes formais de um objeto final, a arte conceitual
e no-retiniana permite a explorao dos diversos sentidos do corpo e uma conexo ao universo
externo social e filosfico. Se o prprio papel do museu j foi questionado por trabalhos como
os de Marcel Duchamp, qual seria ento este novo espao expositivo? O desafio museogrfico
acolher as performances e as re-performances de Marina Abramovich, de Stelarc, de Naira Ciotti,
de Otvio Donasci, as obras de Marcel Duchamp, os hologramas de Jlio Plaza, as instalaes
Silvia Titotto, as obras de arte e tecnologia de Paulo Mello, Artur Matuck, Lcio Agra e de tantos
outros que desafiam o espao fsico em busca de outras percepes. Quando estes trabalhos
artsticos so lanados para dentro do espao museolgico, institucional, todas as questes es-
paciais precisam ser tratadas com profundidade, pois ser este o local estruturador fsico para a
apreenso do sentido pretendido ou a ser explorado pela obra. Em um determinado espao de
tempo, o espao do museu pode gerar diversas sensaes e estas garantiro a vivncia da arte
e absoro deste modo de conhecimento, fato que Frederick Kiesler j explorava na dcada de
30 do sculo XX.
O conceito de Biotcnica e Co-realismo foram desenvolvidos por Frederick John Kiesler entre 1937
e 1942. Entendido pelo autor-artista, como um projeto concentrado em um processo de percepo
visual e interao com os objetos, seu contraponto era com os elementos colocados como funda-
mentais para a criao da forma artstica. A pesquisa de Kiesler foi, em grande parte, realizada no
Laboratory for Design Correlation
8
, dentro de um estudo que j estava desenvolvendo de observa-
7 Como descreve O Doherty em seu l i vro A i deol ogi a do espao da arte, ver bi bl i ografi a.
8 Laboratory of Desi gn Correl ati on, Col umbi a Unversi ty, Nova Iorque, Estados Uni dos da Amri ca. Cri ado por Frederi ck
CI ANTEC
// 82 //
o e anlise do comportamento humano, dos movimentos para o desenvolvimento de objetos. Em
1939, Kiesler desenvolve, em colaborao com seus alunos da Columbia University, um dos maiores
exemplos de suas teorias a Mobile Home Library
9
, um sistema flexvel de armazenamento de livro.
Sendo o primeiro produto manufaturado do seu laboratrio de pesquisa. Esse ensaio apresenta sua
concepo holstica das trocas existentes entre as foras naturais e o homem. Seu prximo passo
foi a busca por um objeto audiovisual que representasse esse processo conectado viso, ou seja,
ao seu conceito de Vision Machine.
O estudo de Vision Machine, culminou em estudos da espacialidade para espaos de exposi-
es. O trabalho que Frederick Kiesler utiliza para introduzir esta discusso na dcada de 40, apre-
sentava ilustrativamente a idia de uma mquina eltrica que, quando acionada por boto, iniciava
um processo de autodemonstrao. Primeiramente, um determinado objeto (ele usa a ma como
exemplo) reflete raios luminosos, estes so concentrados sobre a mquina. Na seqncia, o objeto
focalizado pelo olho, processo viabilizado por tubos de vidro com bolhas que se movimentam do
objeto para a retina. A retina estimulada e transmite estas informaes para o crebro, que gera
a percepo. A mquina interpreta o processo atravs da membrana aberta que permite que o in-
terior e o exterior do corpo humano se delimitem. Os tubos atravessam esta membrana permitindo
um fluxo contnuo de impulsos do exterior para o interior. Os tubos so iluminados por feixes de
diferentes cores em um ciclo e ritmo determinados, cada cor com determinada significao.
A exposio The Art of This Century foi a exposio inaugural do The Art of This Century Gallery,
situada na 30 W. 57th Street em Nova Iorque. A convite de Peggy Guggenheim, essa galeria foi dese-
nhada e desenvolvida pelo ento arquiteto e artista, j reconhecido como visionrio, Frederick Kiesler.
As vsperas da exposio inaugural, a chamada The Art of This Century, Kiesler cria uma revolucion-
ria apresentao de sistemas multifuncionais com mobilirios. Ele projeta diferentes espaos dentro
da exposio: a surrealist gallery, que permite que as obras flutuem na sala; a abstract gallery onde
apresenta trabalhos de arte geomtricos em um sistema tensil, e a kinetic gallery, onde ele constri
um sistema de visualizao dos trabalhos de Marcel Duchamp e Paul Klee.
Trava-se ento de um novo sistema que coordenava arquitetura, pintura, escultura com o es-
pectador. Esse novo sistema de correlaes foi denominado Spatial Exhibition. Essa exposio
espacial consiste em no utilizar paredes para pendurar as imagens, ou os quadros, ou ento
colocar esculturas em pedestais, mas, sim, de garantir uma livre disposio desses objetos em
todo o espao expositivo disponvel. Utiliza-se de diferentes mtodos a partir de um ponto de visa
tcnico para uma reconstruo perceptiva do espao expositivo. Uma das principais caractersti-
cas desse espao expositivo a necessidade de eliminar todos os enquadramentos. O resultado
alcanado o aumento da possibilidade de concentrao e ateno do espectador sobre cada
pintura e, por isso, uma melhor oportunidade para o conhecimento e a reflexo da arte atravs dos
objetos em exposio.
Uma segunda exposio tambm concebida espacialmente por Kiesler em 1944, a Exposio
pela Architects Committee of the National Council of American-Soviet Friendship, em Moscou. Kies-
ler projeta uma exposio de Arquitetos e Urbanistas Americanos em Moscou. Em uma srie de
John Ki esl er e 1937.
9 Ver publ i cao: revi sta Archi tectural Records, no 86 de 03 de setembro de 1939. p. 60-75.
CI ANTEC
// 83 //
estudos primrios, ele conceitua uma apresentao de
elementos. Estes desenhos apresentam o processo de
formalizao de sistema de exposio decorrente da
representao das partes do corpo humano e animal.
No mesmo ano de 47, Kiesler projeta a Exposition In-
ternacionale du Surralisme, em Paris, por iniciativa de
Andr Breton e Marcel Duchamp na Galerie Maeght.
Ele criou a Salle de Superstition. Kiesler comea exe-
cutando desenhos de mltiplos nveis, casas, retratos
de seus amigos e suas esculturas. Em 49, Andr Bloc
publica o MANIFESTO DO CO-REALISMO de Kiesler na revis-
ta LArchitecture dAujourdhui. O manifesto refuta: a
alta pintura, as exposies que se tornaram atos de
exibicionismo, a arte contempornea dos museus da
poca, os traficantes de arte dos sales dos novos ricos, a prostituio da arte para a industria,
as criticas de arte dos jornais que confundem conhecimento com clichs, os professores das
escolas rpidas, que acreditam que aprender sinnimo de imitar e a sabedoria passa a ser
informao barata. O manifesto demole todos os falsos templos, uma vez que a arquitetura e a
arte do povo esto mortas. O manifesto convida o indivduo a entrar em si mesmo, a tornar-se
seu prprio troglodita, a pintar os muros como cavernas. E continua, Ns viveremos junto, as
separaes sero apenas o edifcio, nico e ilimitado, estava fundada para Kiesler, a chamada
Folk Architecture. A arte e a natureza se levantam como sentinelas, a cincia o co de guarda.
Os guerreiros se tornam lutadores. Morar estar em todos os lugares em si. Uma construo
simples e de uma inspirao mais rica.
Kiesler mostra seu pensamento de estar vivendo onde as pessoas so como escravas de um
mundo mecnico. E completa dizendo que: La maison nest pas une machine, ni la machine
est une oeuvre dart. Kiesler estava desenvolvendo neste momento todo um raciocnio sobre o
morar, o habitar como um processo de continuidade do corpo humano, sem separaes e fun-
es predefinidas. Um dinamismo vital que ele denomina de maison sans fin. Em uma fase que
a maior parte dos arquitetos eram preponderantemente funcionalistas, Kiesler visava o mudo de
funes latentes, se questionava sobre as funes impostas. No se tratava para ele de combinar
sala de estar e sala de jantar, mas de permitir uma continuidade das foras vitais no espao e para
isso que criou o Laboratrio na Columbia University. Em seu manifesto apresenta uma tabela do
metabolismo, a anlise da influncia de um novo objeto sobre o entorno e as influncias recprocas
das foras presentes. Para Kiesler, estas novas normas de aes vitais estariam historicamente
ligadas ao futuro, ao sculo XXI.
A mquina artstica e conceitual que Kiesler apresentou na exposio Art of this Century em Nova Iorque
em 1942, apenas tenta demonstrar que dentro do processo de percepo, nem a luz, nem o olho, nem o
crebro, s ou associados podem ver. Para o artista, apenas possvel ver graas coordenao da
unio de experincias do ser humano. E que a imagem concebida por ns e no pelo objeto real. Ele che-
ga concluso de que a viso a capacidade humana de criao e no uma reproduo mecnica.
CI ANTEC
// 84 //
Para o arquiteto Lars Spuybroek, que discutir o conceito de Vision Machine para a exposio intitulada
Vision Machine, museu de Belas Artes de Nantes, operao Jlio Verne, les mondes inventes, prefei-
tura de Nantes e Mission 2000 na Frana, o conceito se conecta ao de arquitetura lquida, seu grande
objeto de estudo. Ele parte do princpio de Oliver Sacks que trabalha a propriocepo no domnio da
neurologia. A propriocepo designa a capacidade do crebro humano de saber incessantemente a
posio do corpo no espao. Trata-se da sensao humana de altitude, movimento e equilbrio. As ter-
minaes nervosas ou receptoras transformam todo estmulo em mensagem de utilizao imediata.
As vias de propriocepo inconscientes se projetam no cerebelo e intervm no controle da pos-
tura. Elas no chegam ao crtex e ficam inconscientes. J, as vias de propriocepo diretas se
projetam sobre o crtex somestsico primrio e permite, portanto, a conscincia da posio do
corpo no espao de maneira consciente. Assim, o conceito de propriocepo nada mais que a
autopercepo, algumas vezes inconsciente do corpo, da conscincia interna dos msculos, dos
tendes e da postura sem outra referncia, que no ela mesma. Se para a maioria dos arquitetos
o espao exterior ao corpo, para Lars, o espao e a capacidade humana de se movimentar e,
portanto, indissocivel ao corpo. A arquitetura expogrfica passa a ser uma extenso do corpo
como percepo estimulada pelos sentidos. Uma morfognese para o estar humano, interativa
e dinmica, por isso lquida, paira e se modifica de acordo com a necessidade. Este espao da
Vision Machine, este museu dentro do museu, dinmico porque no linear. Ao incluir mdias
virtuais, o Vision Machine no trabalha apenas com o conceito de imerso, mas o de everso,
onde as informaes e percepes da virtualidade so lanadas para o mundo natural. No se
trata, portanto, de uma cenografia, ou de uma museografia suporte para as obras, ou ainda de
arte do espetculo, mas de uma obra que permita o fluir e o absorver de uma visita ao museu.
BIBLIOGRAFIA
ODOHERTY, Brian. No interior do cubo branco: a ideologia do espao da arte. So Paulo: Martins Fontes, 2002.
KIESLER, Frederick. Correalism and biotechnique. A definition and test of a new approach to bilding design, 1939.
FREIRE, Cristina. Poticas do Processo: Arte Conceitual no Museu. So Paulo: Iluminuras, 1999.
PERIDICO
revista Architectural Records, no 86 de 03 de setembro de 1939. p. 60-75
CATLOGOS
Vision Machine - Jules Verne Les Mondes Invents. Muse des Beaux Arts de Nantes, 2000. Somogy Edi-
tions dArt, Paris, 2000. Itlia: Comunidade Europia, 2000. Sob a curadoria de Arielle Pelenc, 2000. Como
parte do evento Mission 2000, Jules Verne, Les mondes invents. 13 de maio at 17 de setembro de
2000.
Art of This Century. Objects, drawings, photographs, paintings, sculpture, collages, 1910-1942. Editado por:
Guggenheim, Peggy. Nova Iorque: Arno Press,1968.
SITES
http://www.kiesler.org em janeiro de 2007.
http://www.noxarch.com em novembro de 2006.
CI ANTEC
// 85 //
A PUBLICIDADE E O TEMPO DO CINEMA
CELSO FIGUEIREDO - UNIVERSIDADE PRESEBITERIANA MACKENZIE
RESUMO // curioso pensar na diferena existente na apropriao do tempo do cinema e do tempo
da publicidade dentro da perspectiva do espectador. No cinema o espectador se entrega quela
histria e, conquanto a narrativa esteja instigante, no h pressa para que o filme acabe. Em
oposio a publicidade, sempre curta, gil, cheia de elementos visuais apelativos, vista como
interrupo e no importa o quo curta temporalmente seja, sempre longa demais para o espec-
tador. Entre um e outra surge com fora o conceito do advertainment, combinao de publicidade
com entretenimento que incorpora elementos narrativos da stima arte para sub-repticiamente,
transmitir os conceitos atinentes marca anunciante, mas sem se utilizar das tticas comuns da
atividade publicitria como informar, demonstrar, oferecer, apresentar preos e condies de
pagamento para os produtos anunciados. Nesse contexto, cabe discutir como a fora da narrativa
cinematogrfica substitui ou complementa a publicidade tradicional e pode contribuir para uma
mudana na maneira como o consumidor recebe e interage com a publicidade.
PALAVRAS-CHAVE // publicidade, cinema, entretenimento, tempo.
ABSTRACT // It is curious to consider the difference in the time appropriation in a movie from the
time of advertising, from the perspective of the public. In the cinema the spectator let himself go
along with the story and once the narrative is stimulating, there is no hurry to the end of the movie.
On the other hand, advertising, always short, agile, full of appealing visual elements, is seen as
interruptive no matter how short time frame is, it is always too long for the spectator. Between one
and another, the concept of advertainment becomes stronger. A combination of advertising and
entertainment that incorporates narrative elements of the seventh art in witch passes on, under
the table, the concepts related to the advertisers brand, without using the common tactics of
advertising activity as inform, demonstrate, offer, present prices and payment conditions for the
advertised products. In this context, we can discuss how the power of the cinematographic nar-
rative replaces or complements the traditional advertising and can contribute for a change in the
way how consumer receives and interacts with the advertising.
KEYWORDS // advertising, cinema, entertainment, time.
O tempo uma experincia relativa. Vivemos essa ambigidade diariamente. E curioso verificar
que na sociedade em que vivemos o tempo, os anos, as horas esto entre os principais fatores que
determinam nossos critrios de bom ou mau, de eficaz ou lento, de novo ou velho. Na sociedade do
mosaico que tenta abolir a narrativa, a imagem nica e singular, o instantneo do momento ainda
no suficiente para estabelecermos julgamento de valores sobre pessoas ou coisas. necessria
a multiplicidade ou, quem sabe, a seqncia para que possamos aferir valor s coisas e as pesso-
as. preciso que haja uma rgua sob a qual assentamos os fatos para compreend-los melhor. A
rgua mais usada, mais freqente a do tempo. Esse mesmo tempo que sabemos ser relativo. Assim
CI ANTEC
// 86 //
a relatividade do tempo , curiosamente, o mais firme e freqente dos critrios.
No campo da publicidade, em que segundos so vendidos a preo de ouro, em que a ateno do
consumidor deve ser capturada e recapturada em dcimos de segundo, antes que seu dedo ner-
voso pressione o controle remoto e o percamos definitivamente, o critrio do tempo ainda mais
voraz e avassalador. O zapping (Machado 1993) fora a publicidade a ser cada vez mais gil,
colorida, sensual, sob o risco de perder-se a ateno do consumidor ao primeiro sinal de desagra-
do ou desinteresse. Noes de passado e futuro ficam fragilizadas e o agora , mais que nunca,
valorizado. Seja no apelo para venda imediata, presente no uso intensivo de imperativos: compre,
venha, corra, aproveite... turbinados por expresses como ltimas peas, s neste final de
semana, agora ou nunca entre outros gatilhos que tem por objetivo levar o leitor compra
imediata, convertendo comunicao em vendas. Nessa perspectiva, estabelece-se um jogo de
gato e rato com o consumidor no qual a publicidade varejista no mais dos casos clama pela
ateno com cores fortes, cortes rpidos, palavras de ordem e ofertas escarradas no consumi-
dor. Este, por sua vez tem duas opes: ou ele corta o dilogo pressionando o controle remoto
e buscando satisfao em outro canal, ou distrai para no ser sobrecarregado por mensagens
pelas quais no tem interesse.
No corner oposto temos o cinema que de seu pdio de stima arte arroga-se o direito de es-
tabelecer o tempo da obra e fora o espectador a penetrar naquele tempo, respirar a narrativa,
envolver-se com os personagens ou com a situao e suspender por algum tempo (prximo de
duas horas) o tempo real para entregar-se ao tempo do jogo (Huizinga 2007) o tempo daquela
realidade paralela em que se pode experimentar seja uma vivncia diferenciada seja um choque,
uma quebra de estado, um distanciamento crtico.
Podemos listar as caractersticas do jogo correlacionando-as ao entretenimento. A primeira ca-
racterstica: o fato de ser livre, de ser ele prprio liberdade, ligada diretamente segunda
caracterstica, o jogo no vida corrente nem vida real. Ambas as caractersticas apontadas
remetem idia de que o jogo diz respeito s atividades que no esto diretamente relacionadas
com o ganha-po, com a sobrevivncia. O jogo diz respeito a uma ambiente paralelo, dedicado
ao prazer e fruio. Da sua liberdade para experimentar caminhos diferentes. Se podemos
encontrar a presena de elementos do jogo das relaes cotidianas dedicadas sobrevivncia,
no caso do entretenimento, essas caractersticas so ainda mais patentes. No entretenimento, a
conscincia de estarmos operando em um espao distinto daquele do dia-a-dia muito presente.
Quem se senta em uma poltrona de cinema nos dias atuais ou dedicava seu tempo a uma apre-
sentao teatral no passado remoto, saber, naturalmente, tratar-se de um ambiente distinto da
realidade, da vida corrente, no qual permitido mergulhar em realidades paralelas sem prejuzo
realidade cotidiana.
Mais prximo ao centro, encontramos o cinema de entretenimento, ou popcorn movie, no qual
necessrio envolver o espectador em uma narrativa pulsante, em geral em ritmo acelerado, em
que se vive vastas emoes e pensamentos imperfeitos para parafrasear Rubem Fonseca. Trata-se
dos blockbusters, filmes que tem clara misso de entreter o espectador no se preocupando em
passar algum tipo de mensagem, ou de propor qualquer questo de maio flego. Nesses, o que se
CI ANTEC
// 87 //
entrega emoo, mesmo que o elo com a realidade seja extremamente frgil como o caso dos
Bonds, Indianas, Batmans no caso das aventuras ou das Meg Ryans e assemelhadas nas com-
dias romnticas. Este gnero entrega 2 horas de fruio descompromissada com narrativas bem
estruturadas e construes de clmax emocionais poderosos.
Surge agora, no campo da publicidade uma nova categoria, chamada publicidade-entretenimento
ou advertainment. Trata-se de peas de publicidade mais longas, com filmes que vo dos 6 aos 12
minutos tempo equivalente ao de um curta metragem e que empenham-se em entregar emo-
es nas mesmas doses dos blockbusters mas com um patrocinador claramente identificado. No
obstante sua presena clara, o anunciante no invade a pea de entretenimento para entregar sua
mensagem comercial. Em estilo mais soft sell (Figueiredo 2005, p. 79) essas peas publicitrias
tem como objetivo principal entregar entretenimento em troca da ateno e do good will do consu-
midor em relao marca. Ou em outros termos: estamos na era do poder do consumidor e isso
quer dizer que os profissionais que nos suprem com entretenimento e os anunciantes precisam
mudar de modelo, da intruso para o convite. (DONATON 2007, p.26)
Nessas condies opera-se uma interessante mudana na maneira pela qual a noo de tempo de
manifesta aos olhos do consumidor. Se no modelo anterior, de publicidade tradicional, ela vista
como invasiva, desagradvel, irritante e por esta razo seu tempo sempre percebido como longo
demais; no caso da publicidade-entretenimento o que oferece um bom passa-tempo de modo que
a premncia do tempo deixa de ser to intensa e, nessa circunstncia, a mensagem publicitria
passada de modo sutil enquanto o espectador se deleita com a vibrao e emoo da narrati-
va apresentada. Trata-se de uma nova estratgia de comunicao que promete mudar a maneira
pela qual a publicidade vista pelos consumidores. Enquanto entrega entretenimento ela veicula
a mensagem da marca sem ser incmoda ou invasiva. Assim o tempo da publicidade se alonga
aproximando-se do tempo de fruio prprio do cinema. Ou ainda, opera-se uma mudana
... do mecanismo de satisfao imediata das necessidades e dos desejos e,
pelo contrrio interrompe este mecanismo. Ele se insinua como atividade tem-
porria, que tem uma finalidade autnoma e se realiza tendo em vista uma sa-
tisfao que consiste nessa prpria realizao (HUIZINGA, 2007, p. 11-12).
As conseqncias disso ainda esto por ser verificadas. Pode ser que o consumidor desenvolva uma recu-
sa crtica das peas pelo fato delas serem patrocinadas. Pode ser tambm que, como vem se anunciando
ele simplesmente absorva essas informaes de fundo publicitrio junto com o entretenimento sem maiores
questionamentos; poder ainda tornar-se um f das marcas que entregam diverso gratuita. O que certo,
que nesse modelo, o tempo se alonga e a publicidade se reveste de prazer, de experincias e sensaes.
O tempo parece mudar, assim como a imagem que o consumidor tem da publicidade.
BIBLIOGRAFIA
DONATON, Scott. Publicidade + Entetenimento. So Paulo: Cultrix. 2007.
FIGUEIREDO, Celso. Redao publicitria: seduo pela palavra. So Paulo: Thomson, 2005.
GIANNETTI, Eduardo. O Valor do Amanh. So Paulo: Cia das Letras, 2008.
HUIZINGA, J. Homo Ludens: o jogo como elemento da cultura. 5.ed. 3.reimpr. So Paulo: Perspectiva, 2007.
MACHADO, A. Mquina & Imaginrio. So Paulo: Edusp, 1993.
CI ANTEC
// 88 //
A CONECTIVIDADE E A PERCEPO ESTTICA EM
UNIVERSOS ORGANIZADOS EM REDE
CLADIA NASCIMENTO - MESTRE PELO PROGRAMA INTERUNIDADES EM ESTTICA E HISTRIA
DA ARTE DA UNIVERSIDADE DE SO PAULO - WWW.EXPLORINGHYPERMEDIA.COM/PROJECT
Resumo // Com as novas tecnologias da era digital, o acesso informao, mais que sua dis-
ponibilidade, se torna uma questo fundamental. Os modos de publicao da hipermdia criam
estruturas de rede que transformam nossos comportamentos e vises de mundo. Dentro desse
contexto surge, segundo Roy Ascott, uma nova definio de eu, que passa a ser o alcance de
sua conectividade. Esta, por sua vez, se torna o principal caminho de acesso. Este autor criou
o conceito de condio tecnotica, que define nossa entrada no milnio. Tal condio est
relacionada tanto atitude da mente, que procura a conectividade, a complexidade, a incerteza
e o caos quanto realidade concebida como composio ambiga e composta de camadas, em
constante colapso e reforma, dependente do observador e em fluxo incessante. Ainda segundo
Ascott, devemos assumir tambm uma prtica tecnotica, a partir de investigaes que possi-
bilitem uma interao entre os campos de pesquisa da arte, da tecnologia e da conscincia. Este
trabalho procura, dentro dessa corrente de pensamento, compreender a hipermdia enquanto
linguagem a partir de um dilogo entre sua estrutura narrativa e aquela encontrada pelo antro-
plogo Claude Lvi-Strauss nas narrativas mticas dos ndios sul-americanos. Esta aproximao,
que tambm deu origem construo de um projeto experimental de carter ao mesmo tempo
conceitual, acadmico e artstico, coloca em relevo paralelos significantes entre os dois sistemas
sgnicos. De acordo com Pierre Lvy, o papel atual do artista, mais que interpretar o mundo,
passa a ser arquitetar dispositivos para a transmisso de mensagens. Essa idia no parece to
nova se consideramos que as narrativas mticas, tal como analisadas por Lvi-Strauss, no so
apenas estrias que transmitem mensagens, mas estruturas profundas com as quais diversas
estrias de diferentes aparncias so montadas. Estas estruturas, que so sistemas regidos por
uma coeso interna e que tm como suporte a oralidade, so utilizadas para divulgar mensagens
atravs de um sistema em rede sem um centro fixo, assim como quelas da hipermdia. Os mitos
e o discurso hipermiditico, como manifestaes da atividade mental, nos oferecem uma imagem
do universo. Ao menos, do universo humano, j que o homem procura conhecer-se e ao mundo
que habita atravs da linguagem.
PALAVRAS-CHAVE // mitologia, hipermdia, narrativa, estrutura, rede.
ABSTRACT // With the new technologies of the digital age, the access to information, more than
its availability, becomes a fundamental issue. The hypermedia modes of publications create web
structures that transform our behaviors and visions of the world. Within this context, according to
Roy Ascott, emerges a new definition of the self, which becomes the range of its connectivity.
This, in turn, becomes the main access path. The author has created the concept of a technoetic
condition, which defines our entry into the new millennium. This condition is as much related to the
mental attitude, which seeks connectivity, complexity, uncertainty and chaos, as to the reality known
CI ANTEC
// 89 //
to be layered and ambiguous, constantly collapsing and reforming, dependent on the observer and
endlessly in flux. While still following Ascotts thinking, we should also take on the technoetic practi-
ce from investigations that make possible an interaction among art, technology and consciousness
research. Following this line of thought, this article presents some ideas from a work that seeks to
comprehend hypermedia as language arising from a dialog between its narrative structure and the
one found by the anthropologist Claude Lvi-Strauss in the South-American indigenous mythical
narratives. This approach, from which also originated a conceptual, academic and artistic experi-
mental project, has put in relief significant parallels between both sign systems. According to Pierre
Lvy, the real role of the contemporary artist, more than interpretation of the world, has turned into
conception of devices to transmit messages. This idea doesnt seem so new if we consider that the
mythical narratives, as analyzed by Lvi-Strauss, are not only stories that transmit messages, but
also deep structures within which several stories different in their appearance are assembled. The-
se structures, which are systems connected by an internal cohesion and that have orality as their
vehicle, are used for transmitting messages through a web system without a fixed center, such
as that of hypermedia. The myths and the hypermediatic discourse, as manifestations of mental
activity, offer us an image of the universe. At least of the human universe, since men seek to know
themselves and the world they live in through language.
KEYWORDS // mythology, hypermedia, narrative, structure, web
O homem sempre desenvolveu, desde os primrdios da comunicao, maneiras de armazenar
(para posteriormente recuperar) idias, pensamentos e estrias das comunidades das quais fazia
parte. Esta habilidade vem crescendo de maneira surpreendente e inovadora desde o desenvol-
vimento das tecnologias digitais e da informtica. Como nos diz Lcia Santaella, tais tecnologias,
unidas telecomunicao, tornam as informaes instantaneamente disponveis em diferentes
formas para quaisquer lugares. O mundo est se tornando uma gigantesca rede de troca de
informaes (SANTAELLA, 2003, p. 18).
Pierre Lvy afirma que as informaes e os conhecimentos passaram a constar entre os bens
econmicos primordiais (LVY, 1996, p.55), tornado-se as mais novas formas de riqueza. Mas a
informao, principalmente a digital, tem uma natureza bastante diferente das outras formas de
riqueza. Se transmito a voc uma informao, no a perco, e se a utilizo, no a destruo (LVY,
1996, p.55). Desta maneira, o acesso informao, mais do que a posse, se torna uma questo
fundamental.
Segundo George Landow, o fato de uma informao estar disponvel no significa que ela pode
ser facilmente acessada. Para o autor, a reutilizao da informao permitida pela hipermdia cria,
inevitavelmente, estruturas de rede. Tanto o leitor como o autor/escritor devem ter acesso infor-
mao, o que significa ter acesso rede.
Considered as an information and publication medium, hypertext presents
in starkest outline the contrast between availability and accessibility. Texts
can be available somewhere in an archive, but without cataloguing, support
personnel, and opportunities to visit that archive, they remain unseen and
CI ANTEC
// 90 //
unread (LANDOW, 1997, p. 287).
Este fato torna de extrema importncia, dentro desses ambientes de comunicao em rede, facilitar
o acesso informao disponvel, por exemplo atravs de uma eficaz estrutura de conexes do ar-
quivo s redes das quais faz parte e de sua coerncia organizacional como parte de um todo maior.
O primeiro passo para alcanar este objetivo , sem dvida, entender a natureza dessa rede.
Landow diz que o modelo, analogia ou paradigma de rede, to central ao hipertexto e hipermdia
aparece nos escritos tericos estruturalistas e ps-estruturalistas e est relacionado rejeio da
linearidade.
Related to the model of the network and its components is a rejection of
linearity in form and explanation, often in unexpected applications. [] Al-
though narratologists have almost always emphasized the essential linearity
of narrative, critics have recently begun to find it to be nonlinear (LANDOW,
1997, p. 43).
Um modelo exemplar de no-linearidade narrativa e que pode ser uma forte referncia para se
compreender as redes digitais foi revelado por Claude Lvi-Strauss quando apresentou sua an-
lise estrutural das narrativas mticas indgenas. Segundo este autor, impossvel compreender
um mito como uma seqncia contnua. preciso apreend-lo
como uma totalidade e descobrir que o significado bsico do mito no est
ligado seqncia de acontecimentos, mas antes, se assim se pode dizer,
a grupos de acontecimentos, ainda que tais acontecimentos ocorram em
momentos diferentes da Histria (LVI-STRAUSS, 2000, p. 68).
Isso acontece devido ao carter fundamental dos mitos, a dupla natureza do seu tempo: simulta-
neamente reversvel e irreversvel, sincrnica e diacrnica. Assim como a msica, o mito supera
um tempo histrico findo, devido a uma organizao interna que imobiliza o tempo que passa. A
sucesso diacrnica de acontecimentos serve para reconstituir uma ordem sincrnica, que forma
uma estrutura permanente, relacionada simultaneamente ao passado, ao presente e ao futuro.
Esta idia pode ser melhor entendida a partir de uma comparao da leitura do mito com a leitura
de uma partitura de orquestra (Figura 1).
FIGURA 1. EXPLICAO DOS FEIXES
DE RELAES ATRAVS DE UMA
PARTITURA DE ORQUESTRA.
Para fazer sentido, uma par-
titura de orquestra deve ser
lida em duas direes: Uma
seqencial, da esquerda para
a direita, de uma pgina para
a outra e uma vertical, por co-
lunas, pois as notas ou grupos
de notas situadas na mesma linha vertical formam um feixe de relaes que cria a harmonia dos ins-
CI ANTEC
// 91 //
trumentos tocados juntos. Ao mesmo tempo, a partitura deve ser apreendida globalmente, pois gru-
pos de notas se repetem com intervalos e [...] certos contornos meldicos, aparentemente afastados
uns dos outros, oferecem analogias entre si (LVI-STRAUSS, 2003, p. 244). Lvi-Strauss demonstra
que os mitos devem ser lidos da mesma maneira a partir de um exemplo, no qual manipula o mito
de dipo como se manipularia uma partitura de orquestra (Figura 02).
FIGURA 2. MITO DE DIPO MANIPULADO POR
LVI-STRAUSS COMO UMA PARTITURA DE
ORQUESTRA.
O autor reorganizou a narrativa em
colunas de forma que o mito tambm
pudesse ser lido em duas direes.
Da esquerda para a direita, de cima
para baixo, conta-se a estria mtica,
mas lendo-o por colunas penetramos
em sua estrutura a qual revela es-
quemas superpostos e simultneos
de onde se pode encontrar o verda-
deiro significado do mito. Este est,
portanto, associado s relaes en-
tre os elementos que compe o mito.
A no-linearidade destas narrativas
vai, no entanto, ainda mais alm na medida em que tais elementos so compostos de signos,
imagens que esto a meio caminho entre o que percebido no mundo sensvel e conceitos, que
so atribudos aos seres e s coisas de acordo com um sistema de classificao que prprio
de cada povo. Ou seja, um mesmo smbolo pode significar coisas diferentes em mitos diferentes
ou estar ligado a vrias caractersticas simultaneamente.
O objetivo de Lvi-Strauss ao estudar a mitologia era de demonstrar que por trs da arbitrarieda-
de aparente dos mitos e de sua inveno desenfreada, existe uma lgica e regras que operam
num nvel mais profundo (LVI-STRAUSS, 2004, p. 29). A idia de Lvi-Strauss que um mito
sempre uma transformao mais ou menos elaborada de outros mitos, provenientes da mesma
sociedade ou de sociedades prximas ou afastadas (LVI-STRAUSS, 2004, p.20). O ouvinte do
mito, ao recont-lo para seu grupo, tem a possibilidade de modific-lo e retransmiti-lo de acordo
com o contexto de seu prprio povo, mantendo algumas partes idnticas e alterando outras, trans-
formando simbologias e trechos narrativos para sua melhor adaptao. Nesse processo, a estria
contada com palavras se modifica, mas a estrutura e o sentido do mito enquanto mito se mantm.
Assim, destes emprstimos de temas e termos entre os mitos decorrem as semelhanas e contra-
dies encontradas entre as estrias e as variaes de um mesmo mito. O antroplogo desvenda
ento um sistema de transformaes entre os mitos que o leva, a partir da descoberta de temas
comuns, a encadear as mitologias e reuni-las em grupos. Em um segundo momento, os grupos de
CI ANTEC
// 92 //
transformaes so relacionados s seqncias de mitos de populaes vizinhas, num movimento
que s tende a crescer. A anlise dos mitos empreendida por Lvi-Strauss no se prende, portanto,
a limites territoriais.
Segundo Landow, a apresentao do pensamento mitolgico por Lvi-Strauss como um sistema
complexo de transformaes sem um centro faz dele um texto em rede, o que no surpreende, j
que a rede serve como um dos principais paradigmas da estrutura sincrnica (LANDOW, 1997, p,
93). De fato, devido a este sistema, Lvi-Strauss chamou seu mtodo de anlise levantamento em
roscea.
Seja qual for o mito tomado por centro, suas variantes irradiam-se em tor-
no dele, formando uma roscea, que se expande progressivamente e se
complica. E, seja qual for a variante colocada na periferia que escolhermos
como novo centro, o mesmo fenmeno se reproduz, dando origem a uma
segunda roscea, que em parte mistura-se primeira e a transpe. E assim
por diante. No indefinidamente, mas at que essas construes encur-
vadas nos levem de novo ao ponto de onde partimos. Disso resulta que
um campo primitivamente confuso e indistinto deixa perceber uma rede
de linhas de fora e revela-se poderosamente organizado (LVI-STRAUSS;
ERIBON, 2005, p. 181).
As redes nos tm feito questionar as insuficincias da linearidade e hierarquia como formas de
armazenamento e organizao da informao. Autores como Ted Nelson, George Landow e Sr-
gio Bairon, entre outros, apontaram para as deficincias da construo linear do texto impresso e
do pensamento que este modela, tais como estreiteza, perda e separao de contextos, atenua-
o intelectual e at empobrecimento manifesto. Armazenar a informao em formato linear torna
o acesso a ela mais difcil porque um nico tipo de ordenamento no corresponde s necessi-
dades dos diferentes indivduos que a utilizam. O mrito da hipermdia est, portanto, no fato de
que combina ambas as possibilidades, a unidade e a fragmentao, o fixo e o flexvel, a ordem
e a acessibilidade, enfim, a linearidade e mltiplas seqncias simultneas. De maneira seme-
lhante aos mitos, na hipermdia tambm existem pelo menos dois tipos de sentido. Um explcito,
o sentido dos textos que lemos ou das informaes que se apresentam a ns, que corresponde
leitura diacrnica descrita por Lvi-Strauss. O outro um sentido implcito, que consiste naquilo
que revelado pelas conexes e que corresponde leitura sincrnica das narrativas mticas.
Ao mesmo tempo em que se aproxima mais de nossas necessidades intelectuais, a hipermdia,
sendo uma tecnologia intelectual, modifica nossa maneira de perceber o mundo porque como tal,
nos diz Pierre Lvy, reorganiza a economia ou a ecologia intelectual em seu conjunto e conse-
quentemente modifica a funo cognitiva que supostamente deveria apenas auxiliar ou reforar
(LVY, 1996, p. 38). Segundo David Bolter, ao permitir que seus elementos e aes tenham signi-
ficado, os sistemas de relaes que compem o hipertexto criam um universo humano e definem
o mundo da inteligibilidade humana.
Simultaneamente, segundo Santaella, a prpria realidade se torna mltipla nesta nova era. O efeito
das mdias, tais como a internet e a realidade virtual, entre outras, potencializar as comunicaes
descentralizadas e multiplicar os tipos de realidade que encontramos na sociedade (SANTAELLA,
CI ANTEC
// 93 //
2003, p. 128). Segundo a autora, estamos vivendo hoje um perodo extremamente complexo e hbrido
onde as culturas se concatenam e onde coexistem todas as linguagens e quase todas as mdias
anteriormente inventadas (SANTAELLA, 2003, p. 78). A Hipermdia, portanto, cria e representa essa
multiplicidade e hibridismo pela riqueza e complexidade de misturas e combinaes entre as lin-
guagens visual, verbal e sonora e pela uniformidade de meios e linguagens surgida com o cdigo
universal binrio dos computadores.
Ao usufruir da diversidade e hibridismo do ciberespao, seus usurios tambm so alterados. O
sujeito do ciberespao um sujeito mltiplo. Isso acontece em parte porque podemos ou precisa-
mos assumir diferentes papis de acordo com a informao manipulada, todos podem ser auto-
res, agentes, produtores, editores, leitores, consumidores, de um modo em que a subjetividade de
cada papel prevalece de acordo com o instante (ANTONIO, 1998, p. 190), mas tambm porque
prticas tais como o correio eletrnico e a videoconferncia constituem esse sujeito mltiplo, ins-
tvel e fragmentado, uma constituio que sempre inacabada, em projeto (SANTAELLA, 2003,
p. 128). Tendo em vista este novo leitor que participa, escolhe, traa e cria caminhos de leitura,
Bairon questiona: Como poderemos descrever algum que escreve, mas no detm o poder da
significao, ou algum que l e detm amplos poderes de ressignificao? (BAIRON; PETRY,
2000, p. 55). As noes de leitor, escritor e a prpria noo de identidade devem, portanto,
ser revistas.
De acordo com Landow, Jean-Franois Lyotard prope um modelo de eu como um n em uma
rede de informaes em contraste ao eu ilhado do paradigma romntico do sculo XIX. O eu
contemporneo estaria sempre localizado em um posto (post) atravs do qual vrios tipos de
mensagens passam (LANDOW, 1997, p. 92). Essa idia se assemelha nova noo de eu
proposta por Roy Ascott, que diz que todo n da rede uma parte de mim e que, ao aprender a
lidar com essa situao, configuro a mim mesmo na medida em que minha extenso da rede me
define. O eu passa a ser, portanto, o alcance de minha conectividade.
10
Ao observarmos a comparao que Lvi-Strauss faz dos mitos com a msica,
nos deparamos com idias que podem iluminar a nova relao entre autor
e leitor, emissor e receptor nos meios digitais. Ele nos diz que
o desgnio do compositor se atualiza, como o do mito, atravs do ouvinte e
por ele. Em ambos os casos, observa-se com efeito a mesma inverso da
relao entre emissor e receptor, pois , afinal, o segundo que se v signi-
ficado pela mensagem do primeiro; a msica se vive em mim, eu me ouo
atravs dela. O mito e a obra musical aparecem, assim, como regentes
de orquestra cujos ouvintes so os silenciosos executores (LVI-STRAUSS,
2004, p. 37).
De maneira semelhante aos mitos, no ciberespao ns leitores temos o poder de ressignificao,
ns criamos sentidos de acordo com os caminhos que traamos que s existem porque ns os
atualizamos dentre um universo de possveis. Assim, um texto nas redes digitais, entendido como
uma combinao de blocos de informao interligados (que inclui imagens, sons e outros dados),
se vive em mim e somente atravs de mim. Os caminhos traados, por sua vez, procuram respos-
10 Pal estra real i zada no Espao Fundao Tel efni ca em 28 de agosto de 2007, Argenti na
Di spon vel em: http://www.truveo.com/Roy-Ascott-en-Argenti na-Conferenci a-1-MEACVAD/i d/1254836003
CI ANTEC
// 94 //
tas para nossas necessidades intelectuais. Portanto, como receptores, nos vemos significados pela
mensagem emitida. Esse processo se amplia ainda mais na medida em que a crescente percepo
de elementos visuais e sonoros na hipermdia leva, por seu carter de aluso, disperso e amplia-
o do sentido daquilo que percebido.
Ao olhar para estes veculos de comunicao criados pelas culturas indgenas, observamos que
tanto os mitos quanto a hipermdia operam por meio de mecanismos semelhantes, onde o sentido
emerge das relaes entre as partes e destas com o todo. Por tal motivo, no existe uma nica rea-
lidade, mas esta criada a partir do contexto. Ambas as narrativas so criaes da mente humana
e como tais nos abrem ao mesmo tempo, como disse Paz a respeito dos poemas, as portas da
estranheza e do reconhecimento. Os mitos e o discurso hipermiditico nos oferecem uma imagem
do universo. Ao menos, do universo humano, j que o homem procura conhecer-se e ao mundo
que habita atravs da linguagem.
REFERNCIAS
ANTONIO, Irati. Autoria e cultura na ps-modernidade. Ci. Inf., Braslia, v. 27, n. 2, 1998. Disponvel em:
<http://www.scielo.br/pdf/ci/v27n2/irati.pdf >. Acesso em: 05 de agosto de 2007.
BAIRON, Srgio; PETRY, Luis Carlos. Hipermdia, psicanlise e histria da cultura: making of. Caxias do
Sul: EDUCS; So Paulo: Editora Mackenzie, 2000. 148 p.
LANDOW, George P. Hyper/Text/Theory. Baltimore & London: The Johns Hopkins University Press, 1994.
392 p.
______. Hypertext 2.0: the convergence of contemporary critical theory and technology. Baltimore & Lon-
don: The Johns Hopkins University Press, 1997. 356 p.
LVI-STRAUSS, Claude. Totem e Tabu verso jivaro. In: LVI-STRAUSS, Claude. A oleira ciumenta.
Traduo de Beatriz Perrone-Moiss. So Paulo: Brasiliense, 1986. p. 229253.
______. Antropologia estrutural. Traduo de Chaim Samuel Katz e Eginardo Pires. 6. ed. Rio de Janeiro:
Edies Tempo Brasileiro, 2003. 456 p. (Srie Biblioteca Tempo universitrio, 7).
______. O cru e o cozido (mitolgicas v. 1). Traduo de Beatriz Perrone-Moiss. So Paulo: Cosac &
Naify, 2004. 442 p.
______. O pensamento selvagem. Traduo de Tnia Pellegrini. 6. ed. Campinas: Papirus Editora, 1989.
______. Minhas palavras. Traduo de Carlos Nelson Coutinho. So Paulo: Brasiliense, 1986. 268 p.
______. Mito e significado. Lisboa: Edies 70, 2000. 93 p.
______ ; ERIBON, Didier. De perto e de longe. Traduo de La Mello e Julieta Leite. So Paulo: Cosac
Naify, 2005. 270 p.
LVY, Pierre. O que o virtual. Traduo de Paulo Neves. So Paulo: Ed. 34, 1996. 160 p. (Coleo
TRANS).
NELSON, Theodor Holm. Structure, Tradition and Possibility. Hypertext 03, the Fourteenth ACM Conferen-
ce on Hypertext and Hypermedia, Nottingham, UK, p.1, 2003. Keynote apresentado na 14 Conferncia
anual de Hipertexto e Hipermdia em agosto de 2003, Nottingham, Reino Unido.
PAZ, Octavio. Claude Lvi-Strauss ou o Novo Festim do Esopo. Traduo de Sebastio Uchoa Leite. 2
tiragem da 1. ed. So Paulo: Perspectiva, 1993.
SANTAELLA, Lucia. Cultura e artes do ps-humano: da cultura das mdias cibercultura. So Paulo: Editora
Paulus, 2003. 357 p.
______, Lucia. Hipermdia: a trama esttica da textura conceitual. In: BAIRON, Srgio; PETRY, Luis
Carlos. Hipermdia, psicanlise e histria da cultura: making of. Caxias do Sul: EDUCS; So Paulo: Editora
Mackenzie, 2000.
______. Matrizes da linguagem e pensamento: sonora, visual, verbal. Aplicaes na hipermdia. 3. ed. So
Paulo: Iluminuras: Fapesp, 2005. 432 p.
______. Os Espaos Lquidos da Cibermdia. In: ACTA MEDIA III SIMPSIO INTERNACIONAL DE ARTEM-
DIA E CULTURA DIGITAL, 2004, So Paulo.
CI ANTEC
// 95 //
CINEMA INTERATIVO: A STIMA ARTE EM TEMPOS DE PS-
MODERNIDADE
DENIS PORTO REN - Jornal i sta, documentari sta, mestre e doutorando em Comuni ca-
o Soci al pel a Uni versi dade Metodi sta de So Paul o, onde pesqui sa sobre ci nema
i nterati vo, membro-fundador da Red INAV Rede Ibero-ameri cana de Estudos so-
bre Narrati vas Audi ovi suai s
VICENTE GOSCIOLA - Doutor em Comuni cao - Tecnol ogi as da Informao pel a Co-
muni cao e Semi ti ca da PUC-SP, onde desenvol veu pesqui sa sobre rotei ro para
hi perm di a (2002). Autor do l i vro Rotei ro para as novas m di as: do game TV i nte-
rati va (2 ed. rev. ampl ., So Paul o, Senac, 2008), professor permanente do Pro-
grama de Ps-Graduao em Comuni cao da Uni versi dade Anhembi Morumbi .
RESUMO // A esttica audiovisual, assim como diversas outras estticas comunicacionais, vive
momentos de revoluo. Tais mudanas envolvem a esttica desde a criao, a produo, a
transmisso, a projeo a, at mesmo, o comportamento do pblico, que agora no se contenta
com a passividade tradicional nestes processos. Porm, apesar de existir uma necessidade de
mudana, as tecnologias digitais ainda no oferecem ao cinema interativo condies para que
este se transforme numa realidade sociocultural. Este artigo apresenta uma reflexo sobre a
importncia de se desenvolver uma esttica narrativa que contemple a necessidade participativa
apresentada pelos espectadores, agora tambm usurios, do mercado cinematogrfico, tanto
para as telas convencionais como para televiso digital, telefonia mvel e computador.
PALAVRAS-CHAVE // Cinema interativo, Audiovisual, linguagem audiovisual, comunicao, novas
tecnologias digitais.
RESMEN // La esttica audiovisual, as como diversas otras estticas comunicacionales, vive mo- La esttica audiovisual, as como diversas otras estticas comunicacionales, vive mo-
mentos de revolucin. Tales cambios envolucran desde la estetica y la transmisin, o proyeccin,
hasta mismo al comportamento del pblico, que ahora non se limita en la pasividad tradicional en
estos procesos. Mientras, a pesar de existir una necesidad de cambio, las tecnologas digitales
anida non proporcionan al cine interactivo condicciones para que este se transforme en una rea-
lidad mercadologica. Esto articulo presenta una reflexin sobre la importancia de se desarrollar
una esttica narrativa que contemple la necesidad participativa presentada por los receptores,
ahora tambin usuarios, del mercado cinematografico, tanto para las pantallas convencionales
como para televisin digital, telefona mvil y ordenador.
PALABRAS-CLAVE // cine interactivo, audiovisual, lenguaje audiovisual, comunicacin, nuevas tec-
nologias digitales.
A PS-MODERNIDADE
A sociedade tem vivido modificaes substanciais de algumas dcadas para c. O que era consi-
derado espao exigia uma delimitao fsica, visvel ou no, mas de forma existencialista. Com as
mudanas, o que era delimitado passou a ser virtual, apenas imaginvel, discutido. Esse espao
imaginrio recebeu o nome de ciberespao, algo ainda em estudos, mas com uma definio prati-
CI ANTEC
// 96 //
camente consolidada. O surgimento do ciberespao participa diretamente de uma nova fase vivida
pela sociedade: a ps-modernidade. Os primeiros conceitos que projetavam a leitura social para a
ps-modernidade, definida por Bauman (2001) como modernidade lquida, foram declarados por
McLuhan (2005, p.12), ainda de forma singela e descompromissada com o que viria a ser uma nova
fase. Dizia ele, numa leitura daquele tempo, que hoje, as tecnologias e seus ambientes conse-
qentes se sucedem com tal rapidez que um ambiente j nos prepara para o prximo. As tecno-
logias comeam a desempenhar a funo da arte, tornando-nos conscientes das conseqncias
psquicas e sociais da tecnologia. E complementava:
Ns estamos entrando na nova era da educao, que passa a ser progra-
mada no sentido da descoberta, mais do que no sentido da instruo. Na
medida em que os meios de alimentao de dados aumentam, assim deve
aumentar a necessidade de introviso e de reconhecimento de estruturas.
(MCLUHAN, 2005, p.13)
As idias de McLuhan abriram discusses sobre essa nova fase, onde a participao da energia
eltrica, da comunicao eletrnica e digital se transformaram em agentes mutantes de compor-
tamentos sociais, assim como as formas de comunicao entre os componentes da sociedade.
Porm, as idias de McLuhan, para Vilches (2003, p.69) merecem uma anlise com relao ao
seu claro posicionamento entre o ps-moderno e o neocrtico. Para ele:
O pensamento de McLuhan, no debate sobre os meios e a realidade, pa-
rece navegar em dois mares. O debate entre ps-modernos e neocrticos
est aberto e posto no terreno dos novos meios, e no como debate epis-
temolgico. Portanto, mais poltico que terico, mais midiolgico que
acadmico.
A existncia da ps-modernidade ganha fora por Bauman (2001, p.31), que define essa fase
como sociedade da modernidade lquida ou fluda. Para ele, uma das caractersticas marcantes
desta fase a falta de estrutura espacial, ou seja, a questo espacial j no tem tanta importn-
cia. E define:
Enquanto os slidos tm dimenses espaciais claras, mas neutralizam o
impacto e, portanto, diminuem a significao do tempo (resistem efetiva-
mente a seu fluxo ou o tornam irrelevante), os fluidos no se atm muito a
qualquer forma e esto constantemente prontos (e propensos) a mud-la;
assim, para eles, o que conta o tempo mais do que o espao que lhes
toca ocupar; espao que, afinal, preenchem apenas por um momento.
(BAUMAN, 2001, p.8)
O autor justifica, em seguida, o motivo da escolha da idia de lquido ou fludo como peas fun-
damentais para a leitura da ps-modernidade. Segundo Bauman (2001, p.9), essas so as razes
para considerar fluidezou liquidez como metforas adequadas quando queremos captar a natu-
reza da presente fase, nova de muitas maneiras, na histria da modernidade.
A discusso sobre o ps-modernismo reforada com Santaella (2007). Para ela, que compartilha concei-
tos com Bauman (2001), mais do que a mudana do ps-modernismo, modificou-se tambm o ser humano,
que a autora apresenta como ps-humano. Para ela, as mudanas fazem parte da ps-modernidade.
CI ANTEC
// 97 //
A expresso ps-humano tem uma genealogia, como, de resto, tambm a possuem quaisquer
outras expresses que se tornam medas correntes em discusses intelectuais e em matrias jorna-
lsticas de divulgao. Parece evidente que um rastreamento da genealogia do ps-humano deve
comear pelo exame histrico do surgimento do prefixo ps. Desde os anos 1960, e cada vez mais
freqentemente at a exploso de seu uso nos anos 1980, esse prefixo foi anteposto aos substanti-
vos moderno, modernismo e modernidade. (SANTAELLA, 2007, p.33)
Essa mutao justifica as crticas proferidas tanto por Lyotard, em seu livro a modernidade um
projeto inacabado como para Santos (1999), para quem o sculo XX foi o sculo das promessas
no cumpridas. Porm, importante ressaltar que Santaella no considera ps-humano sinnimo
de ps-moderno, apesar de reconhecer uma relao entre eles. Segundo ela, importante dizer,
retomando idias desenvolvidas no captulo 1, que no tomo a cultura ps-moderna e a cultura
ps-humana como sinnimas (SANTAELLA, 2007, p.67).
Para complementar o entendimento sobre a ps-modernidade, vem o terico alemo Hans Ulrich
Gumbrecht nos iluminar o caminho para darmos conta da amplido do conceito. Em seu livro
Corpo e Forma (1998, pp. 137-151) desenvolve os trs conceitos caractersticos da situao
ps-moderna. O primeiro conceito, da destemporalizao, concebe que toda temporalidade
efmera, pela diluio em um mesmo cadinho do passado presente e futuro, em um mundo
imerso na simultaneidade, to bem caracterizado pelas prticas sociais de mltiplas conexes,
telas e atividades concomitantes. A desreferencializao o enfraquecimento da objetividade na
representao do mundo exterior ou a perda do contato direto com a matria, o que nos lembra
as criaes em realidade virtual e as comunidades on-line. E, provavelmente o conceito mais
significativo para este estudo, a destotalizao a impossibilidade de sustentar afirmaes
filosficas de carter universal, claramente sinalizada pela falncia das prticas da globalizao
e de toda e qualquer teoria absoluta, o que faz implodir a autocracia do senso esttico nico,
liberando as novas mdias para assumir e consolidar as suas novas estticas narrativas, como
veremos a seguir.
PRTICAS E NARRATIVAS DO CINEMA INTERATIVO
Se o cinema um meio de comunicao, e uma forma de expresso esttica, profundamente
enraizado nas mais diversas sociedades e culturas contemporneas, vale toda a ateno para as
suas mais diversas possibilidades narrativas, de modo a identificar novas chaves para o que se
pretende chamar de cinema interativo, pois muitas das experincias do passado, se no possuem
solues diretamente voltadas para os desafios atuais, podem nos oferecer proveitosos caminhos
para a reflexo e novas idias, auxiliando-nos a alcanar resultados concretamente positivos.
Diante de um quadro geral das expresses audiovisuais que possibilitaram uma relativa interati-
vidade, inevitvel nos inquietarmos com questes como: onde devem se concentrar os esforos
narrativos na TV interativa, na possibilidade do telespectador alterar os rumos de uma histria, ou
na oferta ao telespectador de conhecer outros pontos de vista?; qual o papel da narrativa em uma
cinematografia interativa?
Compreender o que o cinema interativo algo repleto de limitaes, pois o mesmo ainda est
CI ANTEC
// 98 //
presente somente em estudos e em projetos que buscam sua viabilidade. Apesar dos inmeros
estudos a respeito, ainda no h uma proposta vivel economicamente e estruturalmente que esteja
de acordo com as expectativas do espectador/usurio e ao mesmo tempo dentro das limitaes
tecnolgicas presentes nos dias atuais. Diversos tericos apontam para a necessidade de que
sejam feitas novas reflexes a partir de novos pontos de vista, mais abertos para a potencialidade
das novas tecnologias, como Mark Amerika (2005, p. 136), que alerta para o imperativo em reorga-
nizarmos a maneira como pensamos a respeito da tecnologia e ... repensar a vocao do artista
assim como investigar termos como cinema interativo.
De acordo com Peter Lunenfeld (2003, p.374), as poucas tentativas de cinema interativo compu-
tadorizado no conseguiram provar que eram capazes de oferecer uma forma narrativa no-linear
vivel para competir com os modelos-padro. Para ele, o desenvolvimento do cinema interativo
ainda est longe da realidade. O autor ainda complementa que o cinema interativo funciona me-
lhor no domnio do mito. Mas h exemplos de desenvolvimento e pesquisa em cinema interativo
que nos permitem vislumbrar recursos eficientes para tal meio. Glorianna Davenport, diretora de
pesquisas cientficas no MIT Media Laboratory, em Massachussetts, fundou em 1987 o pioneiro
grupo de pesquisa e desenvolvimento Interactive Cinema Group, ativo at o momento. O compu-
tador foi o primeiro campo de experincias na rea e os destaques so: One Man and his World,
1967, de Radusz Cincera; Aspen Moviemap, 1978 de Andrew Lippman, no MIT, com dois repro-
dutores de videodisco e um computador Vax (GOSCIOLA, 2008, pp.70-71); o interactive movie
game de 1983 Dragons Lair, realizado em full-motion video (FMV) por Don Bluth. Salas de cine-
ma interativo da Interfilm, Inc. e pela Sony New Technologies foram desenvolvidas com poltronas
com botes e joysticks para optar pela por qual caminho seguir ou alternar narrativas paralelas
(GOSCIOLA, 2008, p. 58 e 73) de filmes como: Mr. Payback: An Interactive Movie, em1995, por
Bob Gale (direo e roteito); Nomad-The Last Cowboy, por Petra Epperlein e Michael Tucker; Im
Your Man (1992) de Bob Bejan (direo e roteiro). O CD-ROM tambm foi mdia para produes
pioneiras como: Switching: An Interactive Movie (2003); 13terStock de Morten Schjdt (direo
e roteiro) (2005). Na TV, as experincias em destaque so: 1991, thriller ertico Mrderische
Entscheidung (decises homicidas) de Oliver HirschbiegelnotaI, duas emissoras de TV (GOS-
CIOLA, 2008, p.64); 2000, D-dag, de Sren Kragh-Jacobsen, Kristian Levring, Thomas Vinterberg
e Lars von Trier, transmitido simultaneamente pelas sete emissoras de TV dinamarquesas, quatro
personagens, cada qual dirigido por um dos diretores (GOSCIOLA, 2008, pp.65-66). As salas de
cinema recebem sensores de movimento ou celulares para que a platia altere a narrativa: 2006,
espectadores por SMS alteram a narrativa em um curta comercial desenvolvido pela AgnciaClick
para a Fiat, em So Paulo; 2007, a MSNBC.com experimentou em Los Angeles um crowdgaming,
sensores registravam movimentao da platia que alterava a narrativa.
O prprio Lunenfeld autor possui olhares mais otimistas quanto ao cinema interativo. Para ele, se
remodelarmos o cinema interativo em torno do conceito de Switching: An Interactive Movie hiper-
contextualizao
11
em vez de em torno do graal mtico da narrativa no-linear, um fenmeno como
The blair witch Project12 (1999) funciona como um exemplo atipicamente bem-sucedido do cinema
11 Lunenfel d (2005, p.375) defi ne hi percontextual i zao como uma comuni dade comuni cati va ri zomti ca e di nmi ca que
usa as redes para a curadori a de uma sri e de contextos em mudana.
12 A experi nci a foi apresentada, segundo Lunenfel d (2005, p.375) por J. P. Tel otte, em 2001, atravs do texto The Bl ai r
CI ANTEC
// 99 //
interativo (LUNENFELD, 2005, p.375-376). Atualmente o The blair witch Project considerado um
clssico e pioneiro exemplo bem sucedido de alternate reality game-ARG (GOSNEY, 2005, p.12-
16). Seja como for, o desafio fazer com que a estrutura no-linear se transforme tambm em uma
experincia narrativa bem-sucedida.
CONCLUSES
Percebe-se, com as discusses apresentadas neste artigo, que a necessidade de se criar uma
narrativa que contemple uma demanda do mercado da comunicao. Afinal, os usurios esto
cada vez mais em busca de processos participativos da comunicao. As mdias, por sua vez,
precisam deste contedo, apesar de ainda oferecerem limitadas opes atualmente. Uma das
demandas deste produto a televiso digital, que promete uma interatividade ainda distante em
seus contedos, especialmente no mercado cinematogrfico, que assume um importante papel
neste espao miditico.
Outra demanda crescente est na telefonia mvel, que assume cada vez mais o papel de mdia
pessoal no que tange transmisso e recepo de dados, sejam em formato de texto, fotos,
udio ou vdeo. Porm, preciso oferecer navegabilidade nestes contedos, pois o prprio
aparelho um potente navegador. Espera-se que as dificuldades tecnolgicas sejam superadas
por um diferencial que os seres humanos possuem, e fundamental para processos criativos:
o raciocnio.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
AMERIKA, Mark.Escrita no ciberespao: notas sobre narrativa nmade, net arte e prtica de estilo de vida.
In LEO, Lcia (org.). O chip e o caleidoscpio: reflexes sobre as novas mdias. So Paulo: SENAC, 2005.
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade lquida. Traduo de Plnio Dentzien. So Paulo: Jorge Zahar Editores,
2001.
GOSCIOLA, Vicente. Roteiro para as novas mdias: do cinema s mdias interativas. So Paulo: Editora
Senac So Paulo, 2008.
GOSNEY, John W. Beyond reality: a guide to Alternate Reality Gaming. Boston: Thomson, 2005.
LUNENFELD, Peter. Os mitos do cinema interativo. In LEO, Lcia (org.). O chip e o caleidoscpio: refle-
xes sobre as novas mdias. So Paulo: SENAC, 2005.
MANOVICH, Lev. El lenguaje de los nuevos mdios de comunicacin: la imagen en la era digital. Buenos
Aires: Paids comunicacin, 2005.
MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicao como extenses do homem (understanding media). 18
Ed. So Paulo: Cultrix, 2005.
REN, Denis & CASTAEDA, Diego Bonilla. Cinema interactivo: estudios para una nueva propuesta. In
COLABOR (org). Caminhos da arte para o sculo XXI / CEPIA / COLABOR. So Paulo: MAC USP Programa
Interunidades de Ps-Graduao em Histria e Esttica da Arte, 2007.
REN, Denis & GONALVES, Elizabeth Moraes. Hipertexto e montagem audiovisual: discusses sobre
o tema. Revista Verso e Reverso, Ano XXI, v.3, 2007, nmero 48. ISSN 1806-6925. Disponvel em http://www.
versoereverso.unisinos.br/index.php?e=12&s=9&a=104.
SANTAELLA, Lcia. Linguagens lquidas na era da mobilidade. So Paulo: Paulus, 2007.
VILCHES, Lorenzo. A migrao digital. So Paulo: Loyola, 2003.
Wi tch Proj ect: Fi l m and the Internet, em Fi l m Quartet, 54 (3).
CI ANTEC
// 100 //
ARTE NA REDE: NOVOS TEMPOS, NOVAS MDIAS.
ELIANE WEIZMANN, - M di a arti sta, mestre em Artes Vi suai s pel a Unesp-SP, 2006.
Coordenadora do educati vo do Fi l e, mi ni stra aul as na facul dade de Comuni cao
Di gi tal da Uni p.
FERNANDO MARINHO - Desi gner, ps-graduado em Desi gn de Hi perm di a pel a
Uni versi dade Anhembi Morumbi , 2004. Mi ni stra aul as na Uni versi dade Ti radentes
em Aracaj u.
LEOCDIO NETO - Desi gner, di retor de arte da Proj eto Integrado Desi gn e Comu-
ni cao Estratgi ca, ps-graduado em Desi gn de Hi perm di a pel a Uni versi dade
Anhembi Morumbi em 2004.
HTTP://WWW.ETCETERART.NET - Os trs autores parti ci param conj untamente com obra
de net art no MAF05- Tai l ndi a, prog:ME 2005- RJ, Fi l e SP 2004, no 2004 WEBART
SECOND MONTENEGRIN JURIED COMPETITION- Iugosl vi a e Fi l e SP 2008. Pu-
bl i caram arti go no GA2004- 7TH GENERATIVE ART CONFERENCE - Mi l o e no 6
Congresso Brasi l ei ro de pesqui sa e desenvol vi mento em desi gn, P&D, 2004. Parti -
ci param como pal estrantes no evento Faces do Desi gn da Uni versi dade Anhembi -
Morumbi em 2003 e no evento Ponto - Semana Interdi sci pl i nar dos Cursos de De-
si gn e Moda da Uni versi dade Anhembi -Morumbi em 2004.
RESUMO // A arte na rede o resultado de um dilogo interdisciplinar entre arte, cincia e tecno-
logia que faz uso das linguagens tecnolgicas para propor uma nova experimentao esttica
on-line.
Existem dois tipos de trabalhos veiculados na internet, os que so produzidos para a rede e os
que so produzidos com a rede. Os que so produzidos para a rede so trabalhos interativos
que possuem banco de dados prprio e sua navegao varia de acordo com a interao do
interator dentro das possibilidades delimitadas pelo autor. Os que so produzidos com a rede
so trabalhos que dependem da sua conectividade para acontecer, eles fazem uso dos dados da
rede, do fluxo de informaes para gerar sua navegao. O computador se alimenta dos dados
da rede em tempo real para responder ao do interator.
Neste artigo os autores apresentam dois trabalhos de netart criados por eles, 011000 e Story
Teller, apontando questes imanentes essas novas manifestaes como por exemplo o tempo
real e a esttica do banco de dados.
011000 resultado das reflexes geradas a partir dos Cartemas de Alosio Magalhes e as
possibilidades que a mdia digital e a internet nos proporcionam atravs de webcams, rdios e
jornais on-line.
Story Teller uma narrativa digital cuja proposta contar histrias contextualizadas num tempo
e espao descrevendo situaes reais complexas e multidimensionais que caracterizam a expe-
rincia das pessoas.
Nos dois trabalhos a durao da imagem est estritamente vinculada a um tempo remoto de cone-
xo e desconexo. Salvar uma imagem ou uma frase no 011000 ou no Story Teller respectiva-
mente, no significa que estaro preservadas ou arquivadas, elas sero renovadas, sero sempre
a atualizao do passado. Essa atualizao decorrncia da busca em tempo real no banco de
CI ANTEC
// 101 //
dados ao qual os trabalhos esto vinculados. Esse banco de dados no mensurvel, sua medida
e limite vo at onde a imaginao permite. O banco de dados indeterminado e de crescimento
exponencial e funciona como uma renovao algortmica dos rastros deixados pelos interatores.
Ambos os trabalhos no preservam nem sedimentam suas prprias histrias, mas estimulam a
interao e convidam o interator a deixar seu registro de passagem pela obra. O que permanece
nesses trabalhos so os algoritmos, as regras que compem o comportamento da obra, mas a
composio e as imagens so efmeras, elas tm a durao da visualizao e da interao.
PALAVRAS-CHAVE // netart, tempo real, interatividade, internet
SUMMARY // The art on the internet is the result of an interdisciplinary dialog between art, science
and technology that uses technological languages to propose a new esthetic experiment on-line.
There exist two types of work linked on the internet, those that are produced for the net and those
that are produced with the net. Those that are produced for the net are interactive works that
have their own data banks and their navigation varies according to the interaction of the interactor
within the possibilities delimited by the author. Those that are produced with the net are works
that depend on their connectivity to occur, they utilize the data of the net, of the information flow
to generate their navigation. The computer feeds off these data in real time to respond to the
action of the interactor.
In this article the authors present two works of netart created by them, 011000 and Story Teller,
pointing out inherent questions about those new manifestations like for example the real time na-
ture and the esthetics of data banks.
011000 is the result of reflections generated since the Cartemas of Alosio Magalhes and the
possibilities that the digital media and the internet provide us through webcams, radios and on-
line journals.
Story Teller is a digital narrative whose proposal is to tell stories contextualized in time and space,
describing real, complex and multidimensional situations that characterize the experience of people.
In these two works, the duration of the image is strictly tied to a remote time of connection and
disconnection. Saving an image or a phrase in 011000 or in Story Teller respectively, doesnt
signify that they will be preserved or archived, they will be renewed, they will always be the actu-
alization of the past. This actualization is the consequence of retrieval in real time from the data
bank the works which are linked. This data bank is not measurable, its size and limit go as far as
the imagination permits. The data bank is indeterminate and has exponential growth, and functions
like an algorithmic renewal of vestiges left by the interactors.
Both works neither preserve nor deposit their own stories, but stimulate the interaction and invite the
interactor to leave his mark on the work. What remains of these works are the algorithms, the rules
that determine the comportment of the work, but the composition and the images are ephemeral,
they have a duration of visualization and of interaction.
KEY-WORDS // netart, real time, interactivity, internet
CI ANTEC
// 102 //
A arte na rede o resultado de um dilogo interdisciplinar entre arte, cincia e tecnologia que faz uso
das linguagens tecnolgicas para propor uma nova experimentao esttica on-line.
Podemos distinguir dois tipos de trabalhos veiculados na internet: os que so produzidos para
a rede e os que so produzidos com a rede. Os que so produzidos para a rede so trabalhos
interativos que possuem banco de dados prprio e sua navegao varia de acordo com a interao
do interator dentro das possibilidades delimitadas pelo autor. Os que so produzidos com a rede
so trabalhos que dependem da sua conectividade para acontecer, eles fazem uso dos dados
da rede, do fluxo de informaes para gerar sua navegao. So obras que s existem on-line.
O computador se alimenta dos dados da rede em tempo real para responder ao do interator.
As classificaes desses tipos de obras so muitas: webart, netart, arte generativa, software art,
code art, arte do protocolo, cada qual com as suas especificidades e variando de acordo com os
conceitos de cada autor.
Neste artigo os autores apresentam dois trabalhos de netart criados por eles, 011000 e Story
Teller, apontando questes imanentes essas novas manifestaes como por exemplo o tempo
real e a esttica do banco de dados.
011000 // URL- WWW.ETCETERART.NET/011000
O ttulo, 011000, alm de fazer uma
aluso ao cdigo binrio do computador,
que opera com zeros e uns, tambm sig-
nifica que o resultado obtido com o tra-
balho um entre outros mil que esto em
potencial.
011000 se inspira no modus operandi
com o qual Alosio Magalhes produziu os
Cartemas, colagens estruturadas na jus-
taposio de cartes-postais, e explora
possibilidades no ambiente hipermiditi-
co que ampliam esse conceito.
Alosio Magalhes (1927-1983), reco-
nhecidamente um dos principais perso-
nagens da histria do design brasileiro,
deixou uma obra expressiva, extrema-
mente particular, coerente e atual. Seus
trabalhos abarcaram, afora o campo do
design, o das artes plsticas e o da ges-
to cultural.
Paradoxalmente, durante uma atividade
especfica do design, Alosio vislumbrou
CI ANTEC
// 103 //
composies interessantes a partir da apropriao de imagens impressas em srie. Desde ento,
dedicou-se produo de colagens com cartes-postais. Em 1972, exps pela primeira vez esses
trabalhos e, em 1974, criou-se o neologismo Cartema para designar essa criao artstica.
O Cartema, de feitura simples e grande efeito visual, fruto de alguns procedimentos formais como
repetio, rotao e estruturao em malha modular, muito utilizados por Alosio Magalhes em
seus projetos de imagem corporativa, nas dcadas de 60 e 70. Observa-se que o mesmo esprito
construtor dos Cartemas j era manifesto em sua produo de design. Alm de propor uma apro-
ximao entre arte e design, o Cartema apontou para outras formas de olhar e usar as imagens
impressas nos cartes-postais.
O carto-postal redimensionou o conceito de espao. Atravs dele, o espao veio ao encontro do
observador, do destinatrio. Nesse sentido, o carto-postal, ao longo da sua evoluo, converteu-
se numa forma de viagem. Com o advento da Internet, a viagem imaginria dos cartes-postais
tornou-se mais realstica e dinmica, pois, com um nico click no mouse, salta-se de um lado para
outro do mundo em segundos.
011000 faz uma associao do carto-postal com webcams, rdios e jornais on-line, possibili-
dades que a mdia digital e a internet oferecem de conhecer um lugar em tempo real atravs de
imagens, notcias, escritas, dialetos, msicas e sonoridades.
Assim como Alosio apropriou-se dos cartes-postais como matria artstica, 011000 apropria-
se dos dados disponveis na rede mundial de computadores para gerar composies que dia-
logam com o seu meio. Essas composies esto em constante metamorfose, pois, alm de
os dados serem mutantes, a obra somente acontece a partir da interao: o interator quem
determina o sentido da obra.
A simultaneidade proporcionada pela interface do computador produz relaes riqussimas, im-
pensveis at ento. Combinatrias de sons, imagens e textos de diversas localidades, estabele-
cem mltiplas leituras, numa ciberviagem potencial. Cada uma dessas mdias sugere um caminho
inspirado nos Cartemas. A repetio, o recorte, a sobreposio, o espelhamento, a simultaneida-
de, o jogo caleidoscpico so palavras-chave na elaborao da pea digital 011000.
As webcams so aparelhos que captam e transmitem imagens de locais pblicos ou privados.
Uma vez disponibilizadas na internet, so passveis de apropriao e manipulao. Cada quadro
de imagem que uma webcam gera, nico, e est em contnua renovao. Portanto, as composi-
es geradas a partir desse quadro sero sempre diferentes a cada atualizao.
Mobilidade, deslocamento, fluxo. Em cada uma das interfaces de webcams do trabalho so apre-
sentadas cinco imagens de lugares diferentes. Cada conjunto delas proporcionam aes dife-
rentes de interao e resultados diferentes tambm. O fato delas carregarem em tempo real e
aparecerem simultaneamente na tela do computador gera um confronto entre elas a partir de suas
diversidades, fuso-horrio, clima, paisagem.
No ambiente digital surge uma nova configurao de tempo e espao. O tempo nos cartes-postais
de Alosio Magalhes um fragmento do passado. No ambiente digital das webcams, jornais e
rdios on-line, o tempo insere-se na perspectiva do tempo real na qual prevalece o imediatismo e a
CI ANTEC
// 104 //
simultaneidade. Isso constitui o fator de renovao dos Cartemas.
STORY TELLER // URL- WWW.ETCETERART.NET/STORYTELLER
(Projeto desenvolvido no FILE Labo, o novo la-
boratrio de novas mdias do Festival Interna-
cional de Linguagem Eletrnica).
O contador de histrias, dentro da tradio
dos contos orais, tem a funo de resgatar,
preservar e transmitir conhecimentos e valo-
res atravs de relatos mticos, contos e len-
das. As narrativas integram o campo mais
vasto dos storytellings (narrativas fictcias).
A narrativa uma manifestao cultural e
um instrumento de construo de sentidos ou
significados de si, das suas circunstncias e experincias.
Essa arte que existe desde os mais remotos tempos da histria est sempre atualizando suas
formas de discurso, e a cada novo relato a histria se renova, dependendo do interlocutor e da
sua platia.
Story Teller uma narrativa digital cuja proposta contar histrias contextualizadas num tempo
e espao descrevendo situaes reais complexas e multidimensionais que caracterizam a expe-
rincia das pessoas. Essas histrias so contadas atravs de cenas resgatadas de vdeos de
outros contextos e editados de acordo com as palavras digitadas pelos interatores. Story Teller
escolhe, se apropria e edita histrias dando novos sentidos e visualidade s narrativas.
Esse mecanismo possibilita criar histrias a partir de inmeras combinatrias baseadas em arqui-
vos que so alimentados constantemente.
O interator digita uma frase que representa alguma lembrana pessoal, o programa busca cenas
vinculadas s palavras digitadas e edita um vdeo com a seqncia estabelecida. Mais impor-
tante do que a veracidade ou a falsidade a seqncia de vdeos que determinaro o enredo e
possveis significados para a narrativa. Seqncias diferentes so histrias diferentes. Os signi-
ficados so construdos em funo do texto digitado, do contexto e da sucesso das cenas que
compem o vdeo editado.
Diferentemente do texto impresso, em que a visualizao da cena se d no imaginrio do leitor,
no meio digital podemos aproveitar as possibilidades da interao, da busca em banco de dados
para tornar o imaginrio visvel na tela do computador. O texto adquire portanto a espacialidade
da visualidade.
O objetivo dos trabalhos 011000 e Story Teller no capturar e registrar um instante no tempo
e, sim, ter uma experincia desse tempo naquele instante. Ambos no preservam nem sedimentam
suas prprias histrias, mas estimulam a interao e convidam o interator a deixar seu rastro de
passagem pela obra.
CI ANTEC
// 105 //
O que permanece nos trabalhos de netart o seu algoritmo, so as regras que compem o compor-
tamento da obra, mas a composio e as imagens so efmeras, elas tm a durao da visualizao
e da interao.
O ato de salvar nesses trabalhos tem uma conotao diferente pois, ao salvar a sua interao,
apenas o modelo ser registrado. O sistema salvar a ao, o comportamento do interator. As
imagens, no entanto, sero carregadas em tempo real, ou seja, toda vez que on picture (interface
onde encontram-se os modelos salvos no 011000) ou memory (interface onde encontram-se as
frases salvas no Story Teller) forem acessados as composio salvas ali sero atualizadas em
tempo real, ver-se- a mesma estrutura que fora salva, porm, as imagens sero do instante aces-
sado. Nos dois trabalhos a durao da imagem est estritamente vinculada a um tempo remoto
de conexo e desconexo. Salvar uma imagem ou uma frase no 011000 ou no Story Teller
respectivamente, no significa que estaro preservadas ou arquivadas, elas sero renovadas,
sero sempre a atualizao do passado. Essa atualizao decorrncia da busca em tempo real
no banco de dados ao qual os trabalhos esto vinculados. Esse banco de dados no mensur-
vel, sua medida e limite vo at onde a imaginao permite. O banco de dados indeterminado
e de crescimento exponencial e funciona como uma renovao algortmica dos rastros deixados
pelos interatores.
Vimos surgir nesta ltima dcada produes artsticas que romperam com o determinismo da
obra de arte acabada e cristalizada. Vivemos na sociedade digital onde no enfatiza-se mais
a obra de arte como algo permanente. Ela est em constante renovao e pode sofrer modi-
ficaes a cada instante. A experincia momentnea e o que houver de verdade nela estar
atrelada ao instante da enunciao.
Neste momento nos deparamos com a construo de novos conceitos, novas teorias e novas
posturas frente arte. Aos poucos vai constituindo-se uma esttica prpria da cultura digital e
um discurso integrado com a prtica artstica.
Continuaremos, portanto, pensando e produzindo a cultura digital e a arte do sculo XXI.
BIBLIOGRAFIA
COUCHOT, Edmond. O tempo real nos dispositivos Artsticos. In LEO, Lucia (org.). Interlab. So Paulo:
Iluminuras, 2002, p.101-106.
KERN, Stephen. The culture of time and space 1880-1918. Cambridge, Massachusetts: Harvard University
Press, 1983
LEITE, Joo de Souza (org.). A Herana do Olhar: o design de Aloisio Magalhes. Rio de Janeiro: Artviva,
2003.
LIMA, Guilherme Cunha. O Grfico Amador: as origens da moderna tipografia brasileira. Rio de Janeiro:
Editora UFRJ, 1997.
LEVY, Pierre. Cibercultura. Traduo: Carlos Irineu da Costa. So Paulo: Editora 34, 1999
OLIVEIRA, Ana Claudia M. A. de. Arte e tecnologia, uma nova relao? In DOMINGUES, Diana (org.). A arte no
sculo XXI: a humanizao das tecnologias. So Paulo: Unesp, 1997, p.216-225.
PARENTE, Andr. Introduo. In: ______ (org.). Imagem mquina: a era das tecnologias do virtual. Rio de Ja-
neiro: Editora 34, 1993, p.7-33.
PLAZA, Julio. As imagens de terceira gerao, tecno-poticas. In PARENTE, Andr (org.). Imagem mquina: a
era das tecnologias do virtual. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993, p.72-88.
RUSH, Michael. New Media in Late 20th-Century Art. London: Thames & Hudson, 1999
CI ANTEC
// 106 //
VENTURELLI, Suzete. Arte espao_tempo_imagem. Braslia: Ed. Universidade de Braslia, 2004.
VIRILIO, Paul. Speed and Information: Cyberspace Alarm! Frana, 1995. Disponvel em: < http://www.ctheory.
net/text_file.asp?pick=72>. Acesso em: 07 set. 2003
WEIZMANN, Eliane; MARINHO, Fernando; NETO, Leocdio. 011000 possibilidades criativas entre os carte-
mas e a hipermdia. Monografia (ps-graduao lato sensu em Design de Hipermdia) - Universidade Anhem-
bi Morumbi, So Paulo, 2004.
WEIZMANN, Eliane. Arte@Tempo: As temporalidades da arte na rede. Dissertao de mestrado (ps-gradu-
ao stricto sensu em Artes) Universidade Estadual Paulista, So Paulo, 2006.
WILSON, Stephen. Information Arts. Cambridge, Massachusetts: The Mit Press, 2003
PARA ALM DA ARTE: UMA REFLEXO SOBRE GNERO E
SEXUALIDADE NA ARTE/EDUCAO.
ESTEVO FONTOURA - ARTISTA PLSTICO E PROFESSOR - MESTRE EM EDUCAO
RESUMO // O ensino de arte nas escolas brasileiras, alm de ser considerado de menor importn-
cia por boa parte das diretorias de escolas e de ter, principalmente na rede pblica, professo-
res atuando na rea sem ter formao especfica, vem sendo modelado pelo olhar masculino
hegemnico. Alm de estarem arraigados na cultura e nas relaes da sociedade brasileira de
um modo geral, uma viso masculina da arte tem sido propagada pelas professoras de artes,
que so na maioria mulheres, sem mesmo que elas percebam. Isto se deve ao fato de os estu-
dos de gnero serem relativamente recentes no mundo e estarem engatinhando no Brasil, com
pouqussimos autores traduzidos para o portugus e pouqussimos pesquisadores trabalhando
com o tema.
No ano de 2007 tive a oportunidade de participar de uma das aes promovidas pelo projeto peda-
ggico da 6 Bienal do Mercosul, que consistiu em 52 encontros de formao de professores nos
estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Algo que ficou claro em relao ao ensino da arte
nas escolas do sul do Brasil hoje em dia que os professores e professoras, de uma maneira geral,
esto mal preparados para o desempenho da funo. Trabalha-se predominantemente com arte
moderna. Na maioria das vezes os processos envolvidos na produo contempornea no so abor-
dados. Alm disso, artistas mulheres praticamente no so citadas, pois elas no figuram na maioria
dos livros de histria da arte. Se a produo atual fosse abordada, seria natural que se falasse em
artistas mulheres, pois se pegarmos qualquer uma das edies da prpria Bienal do Mercosul, por
exemplo, veremos que boa parte dos trabalhos foram criados por artistas do sexo feminino.
Ocorrem-me pelos menos cinco fatores determinantes para esse panorama: (1) a falta de conheci-
mento em relao arte contempornea; (2) a difuso massiva de imagens de arte antiga, clssica
e moderna, que universaliza e canoniza um tipo especfico de arte que no a dos nossos dias; (3)
o reforo, feito pela mdia, da viso dominante masculina por meio das imagens da propaganda e
CI ANTEC
// 107 //
da televiso; (4) a dificuldade de se ter acesso a materiais de qualidade sobre arte contempornea,
por serem caros, ou por haver poucas publicaes em portugus; (5) e a perpetuao, nos cursos
de pedagogia, das atividades manuais, aquelas que todas as futuras professoras aprendem a fazer,
sempre igual, da maneira correta, ou seja, um fazer que no privilegia a reflexo, segue um padro
que j est pronto, que j dado.
No texto a seguir fao uma reflexo sobre estas questes luz dos estudos de gnero e sexualida-
de e suas aproximaes com a arte educao.
PALAVRAS CHAVE // gnero, arte, educao, cultura e sociedade.
ABSTRACT // Far beyond art: a reflection on gender and sexuality in art education. - Art teaching in
the Brazilian schools, apart from being considered of lesser importance by much of school boards
and from having - mainly on public schools - teachers working without a specific training, has been
shaped by the hegemonic male vision. In addition to being rooted in the culture and relations of
Brazilian society in general, this male vision of art has been propagated by art teachers, most of
whom are women, without even them realizing it. This is because gender studies are relatively new
in the world and are crawling in Brazil, with very few authors translated into Portuguese and very
few researchers working with this theme.
In 2007 I had the opportunity to participate in one of the actions undertaken by the educational
project of the 6th Biennial of Mercosul, which consisted of 52 meetings for teacher education
across the states of Rio Grande do Sul and Santa Catarina. A clear picture that raised in relation
to art education in public schools in the south of Brazil nowadays is that teachers, in general, are
ill prepared to perform this function. They work predominantly with modern art. In most cases the
processes involved in contemporary art are not addressed. Moreover, most of the times no women
artists are cited, because they do not appear in most art history books. If current art production
was taken into account, it would be natural to include women artists since nowadays a great frac-
tion of art has been created by female.
At least five factors are crucial for this picture, contributing to this self-sufficient prophecy: (1)
lack of knowledge about contemporary art, (2) the massive dissemination of images of ancient,
classical and modern art, that universalize and canonize a specific type of art that is not reflexive of
todays art, (3) strengthening, made by the media, of the dominant male vision through the images
of advertising and television, (4) the difficulty of getting access to high quality materials on contem-
porary art because they are expensive or not published into Portuguese, (5) and the perpetuation
in pedagogy courses of the manual crafts, those that all future teachers learn to do always in the
same and proper way.
The text below I make a reflection on these issues in light of studies of gender and sexuality and
their approaches to art education.
KEY WORDS // gender, art, education, culture and society.
No ano de 2007 tive a oportunidade de participar de uma das aes promovidas pelo projeto peda-
ggico da 6 Bienal do Mercosul, que consistiu em encontros de formao de professores em todo o
CI ANTEC
// 108 //
estado do Rio Grande do Sul. Viajamos por 52 municpios
e trabalhamos com cerca de 7.500 professores. Nessa
ocasio pudemos ter um bom panorama da atual situao
da educao no estado, onde boa parte dos professores
que trabalham com a disciplina de artes no tm formao
na rea. Percebe-se, sobre o ensino da arte nas escolas
do sul do Brasil hoje em dia, que os professores de uma
maneira geral esto mal preparados para o desempenho
da funo. Trabalha-se predominantemente com arte mo-
derna ou, quando se trabalha com a arte contempornea,
faz-se isso a partir de conceitos modernos, de uma abor-
dagem moderna. Na maioria das vezes os processos en-
volvidos na produo contempornea no so abordados.
Concordo com Dias quando afirma que hoje em dia, as
escolas de arte e os programas de Arte/Educao enfren-
tam a necessidade de desafiar essa noo predominante-
mente formalista de visualidade modernista (DIAS, 2005, p. 281).
Alguns fatores so determinantes para esse panorama, gerando um crculo vicioso onde o pro-
fessor mal formado vai contribuir para a formao deficitria de pblico e de futuros professores
e assim por diante. Ocorrem-me pelos menos cinco fatores para isso: a falta de conhecimento em
relao arte contempornea; a difuso massiva de imagens de arte antiga, clssica e moderna,
que universaliza e canoniza um tipo especfico de arte que no a dos nossos dias; o reforo,
feito pela mdia, da viso dominante masculina por meio das imagens da propaganda e da te-
leviso; a dificuldade de se ter acesso a materiais de qualidade sobre arte contempornea, por
serem caros, ou por haver poucas publicaes em portugus; e a perpetuao, nos cursos de
pedagogia, das atividades manuais, aquelas que todas as futuras professoras aprendem a fazer,
sempre igual, da maneira correta, ou seja, um fazer que no privilegia a reflexo, segue um
padro que j est pronto. Dias afirma, citando Paul Duncum, que vivemos em um mundo tecno-
lgico visual complexo, onde as imagens se transformaram no produto mais essencial de nossa
informao e conhecimento (DIAS, 2005, p. 282), ou seja, necessrio se refletir sobre que
imagens esto sendo trabalhadas no ensino da arte e que discurso essas imagens propagam.
preocupante perceber que alm das dificuldades em termos de infra-estrutura que as escolas
pblicas de um modo geral enfrentam, h ainda um problema mais profundo que est na formao
deficitria do professor. Alguns estudos fundamentais para se desempenhar uma mudana real na
nossa sociedade como os Estudos de Gnero, Cultura Visual e Semitica, s para citar alguns, no
recebem a devida ateno por parte dos professores, que as deixam fora da sala de aula. Como
afirma Connel, o gnero , nos mais amplos termos, a forma pela qual as capacidades reproduti-
vas e as diferenas sexuais dos corpos humanos so trazidas para a prtica social e tornadas parte
do processo histrico (CONNEL, 1995, p.189). Assim, importante que nas relaes cotidianas,
como na relao professor-aluno em sala de aula, se tenha pelo menos conscincia das questes
de gnero, para que no se perpetuem vises distorcidas.
CI ANTEC
// 109 //
A partir dos estudos de gnero e sexualidade, percebi ser fundamental uma aproximao com os es-
tudos feministas que, a partir dos anos 1970, esforaram-se em resgatar a importncia da mulher na
histria da arte, e que a arte contempornea deve muito a tais estudos, pois foram as artistas engaja-
das causa feminista que aprofundaram pesquisas e contriburam para a afirmao de novas formas
e meios de criao, como a fotografia, a performance, o vdeo e a instalao, por serem diferentes da
pintura e da escultura, formas tradicionalmente utilizadas pelos artistas homens (DIAS, 2005).
importante mencionar que eu no percebia a dimenso que os estudos de gnero poderiam vir
a ter no desenvolvimento de meu trabalho e do impacto que causariam na minha maneira de en-
carar a arte e o ensino da arte. Como pesquisador acadmico, venho trabalhando com materiais
pedaggicos de instituies de arte, analisando pela abordagem da semitica greimasiana (fran-
cesa) a produo de sentido e os discursos contidos em tais materiais, tomando-os como textos
sincrticos, ou seja, textos onde diferentes linguagens interagem para produzir uma significao
(PILLAR, 2007). E impossvel deixar de perceber quando surge uma questo relacionada ao
gnero ou sexualidade, no s durante as pesquisas, mas inclusive ao assistir um filme na tele-
viso, ou ao ler uma revista. Sou tambm professor de histria da arte para ensino mdio na rede
privada e, depois de tomar contato com tais estudos, passei a ficar mais atento ao meu prprio
discurso em sala de aula. Comecei a ter mais cuidado ao selecionar os artistas que apresentaria
aos meus alunos durante as aulas, buscando incluir, sempre que possvel, artistas mulheres em
minhas falas, e utilizando seu trabalho para levantar discusses acerca das questes de gnero.
Passei tambm a questionar o tipo de discurso que as instituies de arte apresentam em seus
programas e materiais educativos e se esto atentas s questes mencionadas acima. impor-
tante que tais instituies, como a Fundao Iber Camargo, um dos meus objetos de pesquisa,
enquanto formadoras de opinio e detentoras de grande credibilidade perante a comunidade,
estejam atentas para que no reforcem os tradicionais cnones masculinos, cumprindo assim
sua funo educativa, que vai alm da prpria arte. Infelizmente, muitas destas instituies so
conservadoras, fortemente ligadas tradio, que predominantemente masculina. Concordo
com Loponte quando diz que
o discurso mais comum que chega at ns sobre a arte [...] ainda uma
interpretao pertencente a um sistema de significaes muito particular,
no qual um certo modo de ver masculino dominante. Atravs de repre-
sentaes artsticas e da produo de sentidos em torno dessas represen-
taes exerce-se poder. Poder este que de uma forma no unitria, estvel
ou fixa vem privilegiando e reforando um determinado olhar masculino
(LOPONTE, 2002, p. 285).
Loponte faz uma importante reflexo acerca do discurso criado a partir da representao do femi-
nino na histria da arte, o que produz, segundo a autora, uma pedagogia do feminino, responsvel
pela manuteno de um modo de ver masculino bastante particular. A autora afirma que
a sexualidade no algo dado pela natureza, que esteja simplesmente
ancorado em um corpo que vivido da mesma forma em todos os lugares. A
sexualidade envolve processos culturais e plurais, e como uma inveno so-
cial se constitui historicamente a partir de inmeros discursos que a regulam
CI ANTEC
// 110 //
e a normatizam, produzindo saberes e verdades. Discursos que inventam
sexualidades femininas e masculinas circulam em torno das imagens produ-
zidas por artistas, assim como sobre os prprios artistas - mulheres e ho-
mens. [...] Nas artes visuais, em especial na arte ocidental (principalmente
a partir do Renascimento), proliferam representaes do corpo nu feminino,
que manifestam atravs de olhares para um fictcio espectador a submisso
ao prprio artista e ao proprietrio da obra (LOPONTE, 2002, p.286).
Assim, chama ateno para o quo cultural a formao destes discursos sobre gnero e sexuali-
dade e o quanto as imagens que permeiam nosso dia-a-dia, como a arte, o design, a propaganda
e a mdia, influenciam nossas noes sobre sexualidades masculinas e femininas.
Nessa reflexo podemos tomar a contribuio de Robert W. Connel e seu estudo das polticas da
masculinidade, sobre a existncia de uma narrativa convencional, onde
toda cultura tem uma definio da conduta e dos sentimentos apropriados para os homens. Os
rapazes so pressionados a agir e a sentir dessa forma e a se distanciar do comportamento das
mulheres, das garotas e da feminilidade, compreendidas como oposto. A presso em favor da con-
formidade vem das famlias, das escolas, dos grupos de colegas, da mdia e, finalmente dos em-
pregadores. A maior parte dos rapazes internaliza essa norma social e adota maneiras e interesses
masculinos, tendo como custo, freqentemente, a represso de seus sentimentos. Esforar-se de
forma demasiadamente rdua para corresponder norma masculina pode levar violncia ou
crise pessoal e a dificuldades nas relaes com as mulheres (CONNEL, 1995, p.190).
Segundo Connel, a masculinidade uma configurao de prtica em torno da posio dos
homens na estrutura das relaes de gnero (CONNEL, 1995, p.188). O autor faz uma reflexo
no sentido de que no existe apenas uma masculinidade, e que o gnero uma estrutura extre-
mamente complexa, muitas vezes contraditria, visto que produzido num determinado contexto
social e que envolve a economia, o estado, a famlia e a sexualidade. A narrativa convencional
sobre a masculinidade toma uma das diversas formas de masculinidades possveis para definir
a masculinidade em geral, tratando de forma estanque algo que como vimos muito complexo.
nesse caminho que Connel traz a idia de masculinidades para abordar as mais diversas configu-
raes que possam existir nessa estrutura de relaes de gnero (CONNEL, 1995).
A importncia em se discutir e pensar tais questes, est exatamente em percebermos nossos
prprios comportamentos e a partir disso podermos mudar nossa forma de agir, no caso desta
estar em desconformidade com o que acreditamos ser adequado.
Porm, penso ser muito importante tambm que compreendamos as razes que nos trouxeram a
tal situao. Nossa tradio cultural europia tem boa parte da responsabilidade pelo modo como
entendemos as questes de gnero. Esto arraigadas na nossa cultura heranas das civilizaes
grega e romana, que chegaram a ns graas persistncia do Imprio Bizantino durante a Idade
Mdia e tambm graas Igreja, que perpetuou a arte fora dos muros deste imprio. A pintura de
cavalete, que se iniciou durante o perodo conhecido como Gtico, traz em si a carga da religio
catlica e seus dogmas. No sou um especialista em histria, mas me parece que estes fatores
devem ser levados em considerao.
CI ANTEC
// 111 //
E falando em contexto histrico, importante lembrar que no contexto atual, e mesmo se voltarmos
segunda metade do sculo XX, j temos mudanas em relao a essa viso hegemnica masculina.
Temos algumas importantes historiadoras e tericas da arte, como Lucy Lippard, Anne Cauquelin e
Rosalind Krauss que, apesar de no abordarem expressamente as questes de gnero, so mulhe-
res produzindo conhecimento sobre arte. Loponte cita ainda autoras engajadas ou atentas ao mo-
vimento feminista, como Whitney Chadwick e Griselda Pollock entre outras, que esto diretamente
ligadas construo de uma outra viso da histria da arte.
A partir da contribuio destas mulheres, hoje j no podemos afirmar que a histria da arte seja
totalmente dominada pelo olhar masculino. O prprio histrico que Loponte traa, sobre a impor-
tncia dos estudos feministas, corrobora essa afirmao, pois, como mencionado anteriormente,
a partir dos anos 1970 tivemos importantes avanos no sentido do surgimento de uma produo
terica feminina. Penso que foi fundamental para isso, alm das conquistas conseguidas a partir
do movimento feminista, a vontade da mulher de se posicionar, de perceber que, se a histria
da arte trazia somente a viso masculina at ento, era tambm pela falta de mulheres que se
interessassem por estudar a histria e reescrev-la do ponto de vista feminino. E quando digo
interesse, me refiro vontade aliada persistncia para lutar pelo que se acredita. Parece-me
certo exagero esperar que os homens dos sculos XVI, XVII, XVIII e XIX fossem se colocar no lu-
gar das mulheres e pensar a partir de seu ponto de vista, dando importncia a seus interesses. O
contexto histrico deve ser levado em considerao. Era preciso que uma mulher insatisfeita com
a hegemonia masculina viesse e trouxesse tona seu ponto de vista. Como o fez, por exemplo,
Frida Kahlo, j no sculo XX, que no aceitou ficar sombra do marido Diego Rivera e lutou para
obter o respeito da sociedade e da comunidade artstica pela sua produo.
A partir destas reflexes fica claro para mim a necessidade de se aproximar a Arte/Educao da
arte contempornea e de seus processos, pois no momento em que os professores estiverem
abordando as questes que esto envolvidas na produo contempornea, estaro ao mesmo
tempo abordando questes como gnero e sexualidade, relaes de poder, globalizao, geo-
poltica, entre outros. claro que para isso necessrio que se melhore a qualidade dos cursos
de licenciatura ou que se siga no caminho de formar artistas professores e que se pense numa
formao continuada dos professores que j esto no mercado. por isso que me envolvo com
projetos pedaggicos de Bienais e de instituies de arte, pois se a Academia no d conta da
formao destes profissionais, por quaisquer que sejam as razes, algum precisa aceitar para si
essa responsabilidade e tomar aes concretas para que essa situao mude. A iniciativa privada
tem se mostrado interessada nessa empreitada e louvvel o trabalho que instituies como a
Fundao Bienal de Artes Visuais do Mercosul e a Fundao Iber Camargo vm desenvolvendo,
ainda que em aes pontuais, porm com qualidade e seriedade.
REFERNCIAS
CONNEL, Robert W. Polticas da masculinidade. Educao e Realidade, 20(2): 185-206, jul/dez. 1995.
DIAS, Belidson. Entre Arte/Educao multicultural, cultura visual e teoria queer. In: BARBOSA, Ana Mae. (org).
Arte/Educao Contempornea: consonncias internacionais. So Paulo: Cortez, 2005.
LOPONTE, Luciana Gruppelli. Sexualidades, artes visuais e poder: pedagogias visuais do feminino. Revista
CI ANTEC
// 112 //
Estudos Feministas. Florianpolis, v.10, n. 2, p. 283-301, 2002.
PILLAR, Analice Dutra. Arte, mdia e educao: produo de sentidos em textos sincrticos. In: Encontro Na-
cional da ANPAP (15. : 2006 : Salvador) Arte: limites e contaminaes: [anais] Salvador: ANPAP, 2007. V. 2.
TANURE, Betnia. Gesto brasileira: uma comparao com America Latina, Estados Unidos, Europa e sia.
So Paulo: Atlas, 2007.
COMPOSIO HIPERMIDITICA, UMA MONTAGEM
POLIFNICA
JOO TOLEDO
A idia de unidade est presente em montagens interativas que apresentam esttica do fragmen-
to e exploram o choque entre as diferenas das linguagens da comunicao verbal-audiovisual.
Tal aglutinao segue as definies de Lev Manovich (2001), de que os projetos para as novas
mdias so elaborados a partir de bancos de dados, portanto necessrio que a metodologia
tambm se adeque a este formato, que especule toda a sua capacidade transformadora influen-
ciada pelas novas mdias. Nesse contexto, a criao voltada conceituao do projeto e ao
desenvolvimento de obras baseadas na experincia do leitor imersivo, na metodologia da monta-
gem, parte de uma estrutura complexa, aparentemente desorganizada e em constante fluxo.
Como definido por Santaella (2004), o leitor imersivo comea a emergir nos novos espaos in-
corpreos da virtualidade. Leitor que navega entre ns e conexes alineares pelas arquiteturas
lquidas dos espaos virtuais. A fim de compreender o perfil desse leitor, deve-se levar em conta
mudanas na acelerao da percepo, no ritmo da ateno, na flutuao entre a distrao, e a
intensidade da penetrao no instante perceptivo.
Partindo da referncia de Vertov na montagem de filmes, e levando em conta sua experincia no
Laboratrio do Ouvido
13
, as etapas de criao e de produo audiovisual, hipermiditicas, so
integrantes do ato de compor a obra, assim como tambm so conseqncias da metodologia
interdisciplinar que explora novos modelos a partir de estruturas provenientes de outras reas
como, por exemplo, a msica.
Os horizontes de possibilidades devem ser explorados e, para isso, necessrio um novo olhar
sobre a produo, que conta com a participao e interferncia do leitor na descoberta de outras
interpretaes, nem sempre percebidas pelo desenvolvedor. a adequao ao meio de comuni-
cao e ao ritmo do instantneo, uma loucura virtual compartilhada e analisada pelo ato de compor
ou de estruturar um projeto que nos remete metodologia e utilizao dos instrumentos, das
ferramentas, na execuo do trabalho: ofcio do desenvolvedor hipermiditico.
O ato de compor uma obra de hipermdia possui caractersticas polifnicas, pois, de acordo com
13 Proj eto no qual real i zava experi mentaes com um fongrafo adaptado para regi strar sons proveni entes de di versas
matri zes, desde a fal a at ru dos de ambi entes, como ruas e fbri cas, por exempl o. Al m do regi stro, eram cri adas di versos
ti pos de montagens sonoras com poemas, que se tornavam verdadei ras encenaes
CI ANTEC
// 113 //
Canevacci (1996, p.42), a polifonia relaciona-se ao mesmo tempo com o objeto de pesquisa e o m-
todo, e nos remete a um processo de organizao das etapas de criao e de montagem, permite
bifurcaes, prev possibilidades, recursos e a participao imprevista do usurio.
Assim como a melodia, o ritmo e a harmonia so os trs componentes bsicos da msica, tambm
podem ser parmetros de ordenao aos elementos que se apresentam na interface e que orientam
o leitor imersivo. No se trata simplesmente de um amontoado de recursos tecnolgicos, o saber
apertar a tecla correta para a insero de um efeito apenas procedimento. A metodologia deve
ser valorizada, deve representar a pesquisa e o ato de compor ou estruturar um projeto. Para sa-
lientar construes harmoniosas e extrair a fora expressiva dos formatos de comunicao digital,
devemos encontrar relaes entre a composio musical e a hipermiditica, como:
Pauta - a folha de papel na qual notada a msica. No ambiente digital, mais especificamente
em projetos para a web, a pauta corresponde estrutura de um sistema interativo, so os arquivos
digitais de texto, dos cdigos HTML, XHTML, ASP, PHP, SWF, entre outros, escritos em linguagem
de marcao de contedo. Os documentos possuem marcaes padronizadas, so desenvolvi-
dos sob a orientao de rgidas regras de formatao, e so necessrios para a decodificao e
a visualizao das informaes acessadas pelo browser (navegador).
Instrumentos - o computador deve ser reconhecido como instrumento de trabalho, e quaisquer
softwares disponibilizados para a produo de tarefas, metodologicamente organizadas ou no,
so passveis de ser identificados como ferramentas, no contexto do instrumento de trabalho.
Afinao - para a utilizao das ferramentas de criao/produo audiovisual digital , neces-
srio que elas estejam bem afinadas com o instrumento de trabalho, o computador. Existem vari-
veis fundamentais para performance satisfatria do instrumento, alguns programas j possuem
especificaes tcnicas sugeridas, e outras obrigatrias, para que possam, simplesmente, ser
instalados. Independente do sistema operacional utilizado (Windows, Linux, OSX), as configura-
es, ou afinaes, exigidas dizem respeito a: quantidade de memria RAM, verso e velocidade
do processador, capacidade de armazenamento, suporte de drivers para a captao, edio e
exibio de arquivos de vdeo, de udio, possibilidade de expanso dos recursos com plugins e
upgrades peridicos.
Ritmo - refere-se subdiviso da interface em partes perceptveis com elementos multimdia. a
freqncia em que se estabelecem as relaes entre textos, imagens, vdeos, animaes, sons e
outros, segundo a leitura da composio.
Melodia - certa seqncia, sucesso, de elementos organizados sobre uma estrutura rtmica, que
abre possibilidades para a gerao de nexos e de sentidos comunicacionais e interativos.
Harmonia - O projeto digital uma obra em movimento, cada atualizao da tela tem em si unida-
des com propostas diferenciadas, e, embora exista a diversidade, na harmonia entre as unidades
que se apresenta a funcionalidade interativa. Em termos hipermiditicos, a harmonia a combi-
nao de elementos interativos e de propostas navegveis, articuladas para produzir e reproduzir
progressivamente essas combinaes.
Harmonizao - arte da organizao dos recursos interativos em uma estrutura harmnica, como
CI ANTEC
// 114 //
a organizao da seqncia de leitura dos objetos multimiditicos, denominando cada elemento
individualmente segundo sua extenso, uma nomenclatura ou sistema especfico para indexao,
determinado pela tcnica de produo. A harmonizao pode ser usada para determinar um siste-
ma de princpios que orienta as relaes em trnsito.
Mtrica - sistema de organizao rtmica existente entre imagens, textos, videos e intervalos de
download (carregamento) das informaes, identificvel sob determinado andamento. Na hiperm-
dia, certos aspectos devem ser levados em conta para a organizao dos elementos: dimenso,
tamanho (peso) e formato.
Andamento - como um indicativo de tempo-espao pode funcionar num ambiente atemporal e de caracte-
rsticas hbridas? Essa resposta sempre apresentar resultados relativos ao contexto de recepo. O anda-
mento definido por uma ao conjunta entre as possibilidades interativas e a postura, ativa ou passiva, de
navegao do leitor frente a um determinado contedo, ou seja, sua capacidade de imerso na obra.
Pausa - em um projeto on-line, a cada ao do leitor, que compreende uma dada associao indi-
cial encontrada no sistema, ocorre um intervalo no processo de imerso. Em outras palavras: ela
equivale ao tempo esperado para o download (carregamento) dos elementos visveis do conte-
do acessado. A pausa acontece a cada clique e seu tempo de durao no preciso, depende
da quantidade de informao, do tipo de conexo e da qualidade do equipamento utilizado.
Arranjo e mixagem - fazem parte do mesmo grupo de trabalho, no qual realizado um balance-
amento entre os elementos interativos aplicados ao sistema digital. Aps a segmentao, cata-
logao e seleo das peas que sero utilizadas, ou re-utilizadas, preciso criar, reinventar e
adaptar o material coletado em um conjunto que serve como base para que seja montada uma
estrutura verstil e equilibrada, que comporte o contedo hipermiditico em diferentes nveis de
complexidade com solues s vezes turbulentas, mas sempre polivalentes e coerentes.
Acorde - grupo de aes executadas pelo usurio que, de acordo com o contedo hipermiditi-
co, interage de forma simples (seqencial) ou composta (no-linear).
Dentre os elementos que compem uma interface, existe o objeto fundamental - elemento multi-
mdia de maior destaque no conjunto, o contedo, que disposto no primeiro plano de uma srie
harmnica, d origem a associaes reticuladas, derivadas de uma estrutura polifnica.
Polifonia - modo de composio no qual as vrias criaes, ou partes integrantes do conjunto,
so combinadas de maneira contrapontstica, mantendo a individualidade de cada linha de lei-
tura. Este formato assume uma postura de oposio a um nico modelo de produo, e pode ser
estruturado simultaneamente sobre mais de um meio de comunicao.
Tonalidade - designa a relao em fluxo, desencadeada de maneira lgica entre as peas de
comunicao de uma base de dados interativa, pressupe uma dinmica interconectada trans-
formada em uma interface de acesso, com determinada coerncia central. A partir do abandono
gradual da caracterstica tonal, surgem os projetos experimentais que se apiam em conceitos de
ausncia, de indefinio, de expanso, de justaposio ou de multiplicao dos limites da tonali-
dade, pensados em uma progresso harmnica.
Improvisao - Enquanto as especificidades tcnicas engessam e limitam o experimentalismo do
CI ANTEC
// 115 //
projeto, o carter improvisatrio est presente do outro lado do suporte, no lado do acesso. O leitor
inicia o seu procedimento de imerso alternando-se entre os acessos de estruturas harmnicas. s
vezes, se aprofunda tanto que constri uma teia de informaes interconectadas de grande com-
plexidade. A navegao do usurio a parte de improvisao da hipermdia, constituda por uma
concepo autoral e por uma co-autoria de existncia. No ambiente digital, o usurio do sistema
improvisa, navega e, em alguns casos, tem a possibilidade de livremente inserir contedo, ou
interferir, sobre a estrutura proposta pelo autor. Mas, nada acontece ao acaso, se o contedo em
questo continuar como parte integrante do conjunto, ou no, uma deciso do administrador do
projeto, chamada de moderao. A obra no perde as caractersticas autorais por integrar recur-
sos interativos que visam a ampliar a reverberao comunicacional. A questo da co-autoria fica
explcita na manuteno do projeto e na incorporao do alheio, e a improvisao fundamental
para a evoluo e a sobrevivncia da comunicao on-line.
Reverberar - de uma frase em formato de udio para a transcrio em um site, que tem sua pgina
anexada em uma mensagem por e-mail; a frase, deslocada, enviada por um torpedo de celular,
e novamente aplicada a uma pea multimdia volta web, iniciando um ciclo de propores que
no possuem uma medida comum de avaliao. Em um sistema digital e interativo, reverberar
o ato incomensurvel de propagao da informao, pois todo contedo on-line est passvel de
remixagem e de novas inseres em estruturas diversificadas.
Simpatia - relao por ressonncia entre dois objetos com propriedades de comunicao multimiditica.
Ressonncia - capacidade multimdia de transmisso das informaes, por afinidade de um ob-
jeto a outro, presentes em uma interface.
Consonncia - relaes concordantes, portanto aceitas como mais confortveis aos sentidos, em
oposio s dissonncias.
Dissonncia - grupo de duas ou mais peas de comunicao que criam forte tenso e se tornam
instveis recepo humana, que por natureza busca predominantemente a sua resoluo em
combinaes consonantes. Com a ruptura dos conceitos tradicionais de construo do conhe-
cimento e com a inovao corrente dos estilos nas composies hipermiditicas, a tenso da
dissonncia no precisa ser obrigatoriamente resolvida, e pode ressaltar em cada projeto carac-
tersticas experimentais.
Remix - cada fonte de informao original assume uma postura independente e passa a ser trata-
da como objeto de trabalho que, quando manipulado digitalmente, pode ser rearranjado, retirado
do seu lugar de origem e realocado, transformando o seu significado a cada integrao a um
novo sistema de comunicao. Contudo, necessrio ficar atento e respeitar a cesso de direitos
autorais, como Creative Commons
14
, que garantem proteo s obras intelectuais e a liberdade
proporcionada pelo ambiente digital para esse tipo de produo.
Com a estrutura de uma base de dados definida, surge a necessidade de explorar as propriedades
interativas dos elementos da composio, diferenciando a intensidade, a capacidade de associa-
14 O Creati ve Commons defi ne um espectro de possi bi l i dades entre o di rei to autoral total - todos os di rei tos reservados - e
o dom ni o pbl i co - nenhum di rei to reservado. Nossas l i cenas aj udam voc a manter seu di rei to autoral ao mesmo tempo
em que permi te certos usos de sua obra - um di rei to autoral de al guns di rei tos reservados. Di spon vel em: <http://www.
creati vecommons.org.br/> Acesso 05 set. 2008.
CI ANTEC
// 116 //
es e de discusso das representaes culturais dos objetos multimiditicos.
A composio hipermiditica est aberta a muitos destinatrios, que participam da experincia
de uso de um sistema virtual. A linguagem digital qualifica o conjunto de elementos conceituais,
visuais, sonoros, interativos, relacionais, envolve uma srie de instantes prontos para a publicao
e constitui a base de trabalho para o desenvolvedor, que tem como meta algum desdobramento
para muito alm de sua prpria limitao tcnica.
Ao combinar msica com a seqncia, esta sensao geral um fator de-
cisivo, porque est diretamente ligada percepo da imagem da msica
assim como dos quadros. Isto requer constantes correes e ajustamentos
dos aspectos individuais para preservar o importante efeito geral. (EISENS-
TEIN, 2002, p. 56).
A montagem hipermiditica apresenta linguagem hbrida que dificulta o reconhecimento do quo-
ciente de comparao entre o contedo produzido virtualmente, com fortes traos de entreteni-
mento e fico compatveis ao meio, e as conseqncias da percepo e produo desse tipo
de conhecimento. A montagem polifnica para a construo do conhecimento e o movimento de
transformao adequao - cultural so tambm partes do reflexo da evoluo tecnolgica
e de um comportamento social vaporizado, pressupostamente autnomo, auto-organizacional
emergente no ambiente digital.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
CANEVACCI, Massimo. Sincretismos - uma explorao das hibridaes culturais. So Paulo: Studio Nobel, 1996.
CANEVACCI, Massimo. Culturas Extremas. Mutaes juvenis nos corpos das metrpoles. Rio de Janeiro:
DP&A, 2005.
DOURADO, Henrique Autran. Dicionrio de termos e expresses da msica. So Paulo: Editora 34, 2004.
EISENSTEIN, Sergei. O sentido do filme. Rio de janeiro: Jorge Zahar, 2002.
GRANJA, Vasco. Dziga Vertov. Lisboa: Livros Horizonte, 1981.
LEO, Lucia (Org). O chip e o caleidoscpio - reflexes sobre as novas mdias. So Paulo: Editora Senac
So Paulo, 2005.
MANOVICH, Lev. The language of new media. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2001.
SANTAELLA, Lucia. Navegar no ciberespao: o perfil cognitivo do leitor imersivo. So Paulo: Paulus, 2004.
SANTAELLA, Lucia. Matrizes da linguagem e pensamento: sonora visual verbal: aplicaes na hipermdia.
3. ed. So Paulo: Iluminuras: FAPESP, 2005.
VERTOV, Dziga. Kino-Eye: the writings of Dziga Vertov. California: University of California Press, 1984.
A GLITCH-ART E O MEIO COMPUTACIONAL
JOS CARLOS SILVESTRE FERNANDES
ABSTRACT // In this article we discuss Glitch Art, a very recent aesthetic in the Digital Arts, which takes
the computational error as its main subject. We use Katherine Hayles concepts of Regime of Compu-
CI ANTEC
// 117 //
tation and of Intermediation to argue that Glitch Art asserts the Materiality of Informatics, a position
running on the countercurrent of mainstream Digital Art and with understated philosophical implica-
tions. In conclusion, we suggest a new concept of Glitch Art that emphasizes this framework.
RESUMO // Neste artigo discutimos a Glitch Art, uma esttica bastante recente nas Artes Digitais,
que explora o erro computacional como seu principal tema. Usamos os conceitos de Katherine
Hayles de Regime da Computao e de Intermediao para argumentar que Glitch Art afirma a
Materialidade da Informtica, uma posio na contra-corrente do mainstream da arte digital e com
implicaes filosficas pouco discutidas. Em concluso, sugerimos um novo conceito de Glitch Art
que enfatiza esta estratgia de abordagem.
This article discusses Glitch Art, a rising aesthetics inside the Digital Arts spectrum which uses the
computational error, whether intentional or accidental, as its main subject. Glitch Art in its visual
form is a very recent phenomenon (the glitch in music sprouted a little earlier). Glitch Art takes a
number of forms: some portray accidental errors and system crashes, which the artist did not in-
tend to cause and only appropriates as a ready-made; some edit the binaries of images with a Hex
Editor, generating unpredictable distorted images; some artists have produced Pure Glitches,
visualizing raw data in its machine form; others have experimented with the output of deliberately
faulty code; and new forms are constantly being discovered and experimented with.
I take Bolter and Grusins concepts of immediation and hypermediation as the starting point of our
discussion of Glitch Art. These authors call immediation the aesthetic impulse which understates,
camouflages or occludes the medium. The supplement of immediation is hypermediation; in hy-
permediation, the artist strives to make the viewer acknowledge the medium as a medium and
to delight in that acknowledgment. (BOLTER and GRUSIN, 2000) This is usually achieved by the
combination of heterogeneous media, privileging fragmentation, openness and indeterminacy.
We could think of Glitch Art, then, as an example of hypermediacy: it not only acknowledges its
medium but boldly asserts it, and certainly delights in this acknowledgment. In fact, it is so extreme
as to become paradoxical: as it brings this acknowledgment to the forefront, the glitched image
functions as a constituent part of the presentation of error, and if we ask ourselves what is being
mediated, the answer is that it is the error itself, and its presentation is very much in immediacy.
This paradoxical possibility is recognized by the authors themselves: extremes of hypermediation
result in works about the medium itself, which is presented in immediacy, whereas if an artist is too
successful in immediacy hypermediacy intrudes through the awe upon the works realism and the
inevitable speculation on its technique.
This taxonomy, however, is just a starting point. There is something unique in the strategies of Glitch
Art to bring the medium onto focus: most hypermediated artworks use the strategy of combining
different media within a single frame, and of requiring constant, ergodic participation of the user.
Nevertheless, regardless of how cramped and multimediatic the work turns out to be, its constitu-
ent parts are themselves presented as given: an image is an image, a sound file is sound, and little
to no attention is paid to the processes that generate these objects. Glitch Art, on the other hand,
CI ANTEC
// 118 //
focuses exactly on these processes; and we can only argue that a combination of media happens in
Glitch Art if we take it that the media combined are all instances of the computational: the many forms
information takes in the computer, on the screen or beneath it, that are juxtaposed. To evaluate the
consequences of stating this, well have to make a slight detour.
It has been 40 years now since Derrida famously challenged Saussures claims on the relationship
between writing and speech, in Of Grammatology. Saussure, inaugurating the discipline of Linguis-
tics, excluded writing systems from the linguists interest, on the grounds that writing merely tran-
scribes what happens in speech. A minute discussion of Derridas riposte goes beyond the scope
of this essay, but Derrida claimed that speech and writing differ in very important ways; that there
is no reason to claim that language happens in speech and writing only transcribes it (in fact,
that this is incompatible with the premise of the arbitrariness of the sign); that speech, writing, and
that the relationship between the two influence profoundly how we think - Derrida goes so far as to
claim that the problems of Metaphysics, Plato to Hegel, are dependent on it. Derrida also posited
that speech and writing exert mutual influence, even though we do regard writing as a supplement
of speech. This, however, only calls for a clarification of what a supplement is. Again, space
constraints keep us from a more detailed discussion: but it suffices for now to say a supplement
works as a substitute and an accretion of what it supplements, a replacement and a marginalized
part transforming the center. Finally, as speech loses its privileged position, we gradually see the
relationship between sign systems not so much as a hierarchy but as interplay, or a game: The
death of speech is the advent of the game. (DERRIDA, 1967)
LUCIANO TESTI PAULS JPEGGED MONA LISA (2000), ONE OF THE EARLIER WORKS IN GLITCH ART
Continuing this narrative is Katherine Hayles concept of Intermediation. Intermediation first ap-
pears in the context of Simulation Theory, to refer to situations in which the behaviour of a lower
level becomes a primitive object to a higher level of the simulation (where, by interacting with
other primitives, it brings forth the emergence of new primitives for an even higher level). This
early idea inspired a broader concept. Hayles Intermedia-
tion assumes a dynamical hierarchy in which, though there
is a hierarchy and a separation in layers or levels, the lower
levels also reconfigure the higher levels; it is a hierarchy
with feedback loops and in which information, to traverse
through its levels, must change its medium. There are two
examples of Intermediation Hayles has discussed to greater
length, and these are also the examples which will interest
us here: first, the Intermediation between humans and tech-
nology (technology is designed and created by humans, but
there is also a feedback loop in that technology as in Mclu-
hans prosthetics also redefines what it is to be human. Fur-
thermore, human-machine interaction requires interfaces that
transform the information flowing between the two); and sec-
CI ANTEC
// 119 //
ond, the Intermediation between the systems of speech, text, and (computer) code, or, more pre-
cisely, the worldviews of speech, text, and code, which she associates respectively with Saussures
Linguistics, Derridas Grammatology, and theorists such as Stephen Wolfram and Harold Morowitz.
These worldviews, according to her, imply distinctive ways of constituting communities, dealing with
evolutionary changes, accommodating technological interventions, and describing the operation of
systems. (HAYLES, 2007)
15
Well group speech, text, and other media targeted to human reception under Human Language.
Information inside computers that cannot be understood without intermediating operations well be
called Computer Language. Code is at the same time human and machine language, function-
ing as an interface between the two. It is also human-human communication, as source code, and
human-machine-human communication, through the applications output.
The role of the machine is usually overlooked or understated in the signifying process. Though we
never forget, strictly speaking, that the machine is there, we also do not acknowledge its role: we
expect it to work as a Flusserian black box, on a quest for immediacy (this is a very interesting
Black Box, as code is as much a message to travel through the computer as a message to the
computer itself: it is, usually explicitly, an instruction set). Interestingly, though, while the physical
machine is unaccounted for, some computational elements are easily acknowledged: the design
of user interfaces, for example, does not try to mimic phenomena outside the computer (other
than the occasional analogy) but presents instead computational artefacts that are easy for the
user to understand. As Lev Manovich puts it, The designers no longer try to hide the interfaces.
Instead, the interaction is treated as an event - as opposed to non-event, as in the previous
invisible interface paradigm. () The interaction explicitly calls attention to itself. (MANOVICH,
2007) Any manifestation of the processes and physical operations behind these interfaces, how-
ever, is an intruding error to be corrected; transparency is sought by erasing the computer, but
what lies behind this transparency is not a real being mediated, but the interface: ironically, the
computer itself.
This attitude is also found in most of Digital Art, and even in offshoots whose object is, allegedly,
the process itself, such as Algorithmic Art, Generative Art and Fractal Art. In these works, code is
abstracted from the physical machine in which it runs and is instead regarded as a pure, math-
ematical entity. As Wilson said, Algorists are more willing than some other contemporary artists to
assert that their art aspires toward universalseither spiritual or probing the essential geometry of
the universe. (WILSON, 2002)
I would like to group under the Regime of Computation not only the abstraction of code and its
projection onto nature, but also the abstraction of the computational to include the standpoint of
the end-user, to whom not only the machine but also code is rendered invisible: when it is the inter-
face, rather than the code, that is abstracted: a closely related but different experience.
Glitch-art subverts the Regime of Computation by bringing to the foreground the hidden processes
intermediating human and machine, exposing the distance between the computer and the computa-
15 When i ntroduci ng these author s vi ews, I have deci ded to preserve thei r choi ce of wordi ng, whether wri ti ng or text,
whi ch I take i n thi s context to be roughl y i nterchangeabl e; I adopt text from thi s poi nt on, i n a broad understandi ng of that
word.
CI ANTEC
// 120 //
tional. In a time of disembodied code, it is an affirmation of the materiality of informatics, as materiality
becomes apparent even when the operation of the machine-level does not surface to the output: it
suffices that the overlooked boundaries and limitations of the computing machine become visible
to assert the machines materiality. Also, as it brings computer artefacts to the surface which are
meaningless and impenetrable to humans, Glitch Art insists on how the operations of the machine
are completely alien to human language, and therefore inscrutable.
There is usually a contrast between the human language artefacts of the interface and its computer
language alter (see fig 1). This is not always the case, however. Ant Scotts Pure Glitch pieces,
one of which is reproduced here (fig 2), are images with no element of human language interface
being offered alongside for context or contrast. Some of these arent even strictly errors, but data
visualizations of the contents of the computers random access memory. These data are straight-
forwardly translated to pixels, and then these images are recoloured, a gesture which makes them
pleasing to the eye and removes the aggressiveness these images could otherwise suggest.
Otherwise, no interfacing to the human user is offered: only raw data, in its beautiful impenetra-
bility. It is interesting to consider that these images are themselves computer files to be viewed by
humans, and these files are themselves encoded like the data which originated it, taking up a form
we cannot predict. The glitch, however, has here become very subtle: if there is something go-
ing wrong here, it is that these data were not supposed to emerge to the human user in this form,
but to remain hidden under a stack of interfaces. But the mechanism through which they rose to
the screen was not, at least in some cases, a glitch in commonly used software, but the correct
operation of software written for this purpose by Scott himself.
On a different track there is JODI, pioneers of net.art. Even though Glitch Art as such is a very
recent phenomenon, JODI already explored the aesthetics of the computational error as early as
1993. In the first instalment of the jodi.org website, the visitor would find on the frontpage a black
screen with incoherent green characters, which looked very much like an error. If the visitor con-
sulted the source page for this file, however, he would encounter an ASCII-art blueprint of a hydro-
gen bomb. This bomb, released by the programmer, travels through the machine and explodes as
it re-emerges in the user output. As the exploration of the website continued, the visitor would find
seemingly random collages of webdesign elements: these collages, clearly premeditated but also
error-looking, pointed to the interface, the computational from the standpoint of the user; the only
exception throughout the site was the frontpage, where we learn the programmer has dropped a
Hydrogen Bomb on the website, and we are waddling on the resulting shambles.
It is easy to see how the error, in the Pure Glitch series, could have been easily dispensed with;
and in JODI, the border separating what properly constitutes an error from Dadaist-like collage
becomes very diffuse. Because of examples like this, I would like to attempt a broader definition for
Glitch Art: it is computational art in which artefacts and behaviours in computer language emerge to
the output by means other than the standard intermediating processes that convert this information
into human language. An error, of course, is the easiest way to achieve this, as information travels
through intermediating mechanisms that are not in their standard functioning. Ant Scott in his Pure
Glitch series has not properly glitched any system for some of the pictures, but he has brought to
CI ANTEC
// 121 //
the surface data in a presentation that was not originally supposed to be addressed to the user: a form
that gives us a glimpse of the machine language, though of course our impression of this is human-
specific and unlike the results it would have on the machine. Furthermore, Glitch Art can also reveal
behaviours rather than data: artworks which depend on software or hardware errors bring to the
foreground the very existence of underlying operations which, by principles of design, are expected
to remain completely hidden to the user, even if the error does not produce any discrete visual or
aural artefact by itself, or generates one that is not immediately recognizable as glitch. I do pose,
however, that an actual artefact from the machine language must emerge to the surface in Glitch
Art: artworks which also address the materiality of informatics and the hidden computational layers
through other strategies (for example through allegories), though closely related conceptually, are
excluded from this new definition. Something must have malfunctioned (on a broad sense of func-
tioning outside its normal, premeditated modes) in the interfaces of intermediation.
BIBLIOGRAPHY
BOLTER, Jay David; GRUSIN, Richard. Remediation: Understanding New Media. Boston: The MIT Press,
2000.
DERRIDA, Jacques. Gramatologia. So Paulo: Perspectiva, 2004. (Portuguese translation; original publica-
tion in 1967)
HAYLES, N. Katherine. My Mother Was a Computer: Digital Subjects and Literary Texts. Chicago: University
Of Chicago Press, 2005.
HAYLES, N. Katherine. Electronic Literature: New Horizons for the Literary. Notre Dame, Indiana: University
Of Notre Dame Press, 2008.
MANOVICH, Lev. Tate Lecture. 2007 Disponvel em: <http://www.manovich.net/DOCS/TATE_lecture.doc>.
Acesso em: 1 set. 2008.
WILSON, Stephen. Information Arts: Intersections of Art, Science and Technology. Boston: The MIT Press, 2003
A CONVERGNCIA ENTRE CINEMA E LITERATURA:
UMA PROPOSTA DE ANLISE MORFOLGICA DO LONGA-
METRAGEM O LABIRINTO DO FAUNO SOB A PERSPECTIVA
DOS CONTOS DE FADAS
JULIANA PELLEGRINI
RESUMO // A concepo de que os contos de fada so histrias pueris para entreter crianas foi
substituda pela conscincia da importncia dessas narrativas devido ao fato de trabalharem fa-
tores psicolgicos fundamentais utilizando uma linguagem simblica, e por isso essas histrias
deveriam ser contadas a pessoas de todas as idades, de todos os locais do mundo.
Apresentamos aqui uma proposta de anlise do longa-metragem O Labirinto do Fauno como um
conto de fadas, tendo como base a sua estrutura narrativa.
CI ANTEC
// 122 //
ABSTRACT // Fairy tales is commonly related to childrens entertainment. However nowadays, it is
known that they carry a symbolic language which deals with essential psychological aspects to be
told for every single one, at any age everywhere. For Pans labyrinth movie as a fairy tale structure,
it is presented at this essay a slight thought about the fairy tale aspect.
INTRODUO
Sobre os contos de fadas existem muitas teorias: sejam elas literrias, psicanalticas ou histricas.
Sua grande variedade e o grande nmero de estudiosos que as exploram denotam a importncia
que essas histrias detm como transmissoras de cultura, de princpios e de literatura.
Apesar da tendncia anlise psicanaltica hoje dominante, optamos neste estudo por utilizar a
anlise literria como fio condutor.
Como base, utilizamos a anlise morfolgica de Vladimir Propp (1895 - 1970), que se concentra
nos componentes bsicos da estrutura narrativa, focando no os diferentes tipos de persona-
gens, mas sim as aes das mesmas pois, para ele, seriam elas os elementos que responderiam
pela natureza do maravilhoso. (COELHO, 2005, p. 110)
A NARRATIVA
Oflia uma pr - adolescente aficionada por contos de fadas na Espanha ps - guerra civil
(1936-39) que se refugia na leitura dessas histrias fantsticas para escapar triste e violenta
realidade em que vive. Em 1944 ela se muda, contra sua vontade, da cidade para o campo onde
ela e sua me, Carmen, vo morar na casa do capito Vidal, militar franquista impiedoso com
quem a ltima se casou aps a morte do marido na guerra e de quem espera um filho. Oflia no
v essa mudana com bons olhos, assim como se ressente por sua me haver se casado com
um homem por quem a menina no sente nenhum afeto ou confiana.
Ao chegar s proximidades da casa, Oflia encontra um velho labirinto todo construdo em pe-
dras. J na primeira noite ela visitada por uma fada que a conduz novamente ao labirinto. L, a
menina se depara com um velho Fauno que se apresenta como sdito do Reino Subterrneo, um
lugar onde no existe mentira ou dor e do qual, segundo ele, Oflia seria Moanna, a princesa que
fugiu em busca do mundo dos homens. Ao chegar superfcie, ela teria sido cegada pela luz do
sol e sua memria apagada, passando a viver como uma mortal. Ento seu pai, o Rei, mandou que
construssem portais em muitos lugares do mundo, por acreditar que a filha perdida retornaria,
mesmo que num outro corpo, num outro lugar e numa outra poca. O ltimo desses portais seria
o existente dentro do labirinto onde ela conhece o Fauno. Para provar, porm, que no se tornou
uma mortal, ela deve cumprir trs provas antes da Lua cheia, abrindo assim o portal e voltando
ao seu verdadeiro lar. Aceito o desafio, ela recebe das mos da criatura mitolgica o Livro das
Encruzilhadas, um orculo cuja funo ser mostrar-lhe quais sero os prximos acontecimentos
importantes, sobretudo as provas a serem cumpridas.
A partir desse ponto, duas realidades se entrecruzam: enquanto Moanna vive suas aventuras num
CI ANTEC
// 123 //
mundo onrico e extraordinrio, Oflia assiste perseguio do capito Vidal aos guerrilheiros que
lutam contra a ditadura, assim como a qualquer um que possa representar alguma ameaa ditadu-
ra imposta pelo general Francisco Franco (1892 1975).
Ao espectador facultada a opo de escolher em qual das realidades acredita.
AS FUNES INVARIANTES DE VLADIMIR PROPP EM O LABIRINTO DO FAUNO
Vladimir Propp (1895 1970) foi um acadmico russo que revolucionou os estudos dos contos de
fadas ao analis-los no de acordo com a identidade das personagens, mas sim de acordo com
suas aes. Ele denominou as aes funes e aps analisar um grande nmero de contos
maravilhosos chegou concluso de que existiam funes constantes (invariantes), ou seja, que
estavam presentes na estrutura de todos os contos analisados, possuindo importncia funda-
mental na estrutura das narrativas, e funes variveis (variantes), que possuam importncia
secundria.
Como invariantes ele classificou 31 funes, das quais 6 so as principais, podendo se repetir
dependendo da complexidade da narrativa analisada. Tomamos essas funes para a anlise
de O Labirinto do Fauno:
1) Situao de crise ou mudana: todo conto de fadas se inicia a partir de uma situao real e
problemtica, quando o equilbrio da existncia do heri rompido por algum acontecimento. Na
narrativa analisada, Oflia se muda contra a sua vontade para um local desconhecido e comple-
tamente diferente de onde viveu at ento, sentindo-se desprotegida e ameaada.
2) Aspirao, desgnio ou obedincia: ocorre quando o desafio de enfrentar a mudana e alcan-
ar um objetivo / ideal aceito pelo heri. Isso comea a acontecer quando, durante a primeira
noite aps sua chegada, Oflia visitada por uma fada e guiada at o velho labirinto, onde rece-
be das mos do Fauno o Livro das Encruzilhadas. As provas por ele indicadas so na verdade
provas iniciticas (o que faz do conto um conto inicitico), ou seja, o objetivo delas na verdade
preparar a princesa para que ela possa exercer seus valores e sua funo junto ao seu grupo,
nesse caso, alcanar a maturidade e o discernimento necessrios para governar com justia e
sabedoria.
3) Viagem: para realizar o ideal abraado, ou seja, para atingir a auto-realizao, ao heri
sempre necessrio partir, se afastar de casa e travar sua prpria batalha com o mundo exterior.
Seguindo as indicaes do Livro das Encruzilhadas, Moanna parte trs vezes com o objetivo de
cumprir as trs provas que lhe so propostas.
Na primeira ela deve salvar uma antiqssima rvore que est morrendo porque um gigantesco
sapo se alojou em suas razes. Para isso ela deve colocar na boca do sapo as trs pedras que
lhe foram entregues pelo Fauno junto com o orculo, recuperando assim uma chave dourada que
tambm foi engolida pelo sapo e que ser usada na prova seguinte.
Na segunda prova, ela deve entrar num salo onde h uma criatura canibal adormecida e recupe-
rar uma adaga, retirando-a de uma entre trs portinholas, que dever abrir com a chave dourada.
Contando com a ajuda de trs fadas, ela se recusa a aceitar a indicao delas sobre qual portinhola
CI ANTEC
// 124 //
deve abrir e tambm desobedece as instrues do Fauno para que no coma nada do banquete.
Ela come algumas uvas, o que acorda a criatura adormecida, que mata duas das fadas e quase o
faz com ela tambm.
Para cumprir a terceira e ltima prova, o Fauno solicita que ela v ao labirinto e leve consigo seu
irmo recm nascido, junto com a adaga. Motivo: o sangue de um inocente deve ser derramado
para que o portal se abra. Ela, porm, se recusa a entreg-lo, momento em que o Fauno desapa-
rece. Surge ento o capito Vidal, que a seguiu, toma o beb e atira nela.
4) Desafio ou obstculo: ao cumprimento de cada uma das provas, de cada um dos objetivos,
h dificuldades e para super-las Moanna deve superar seus prprios medos e sua prprias
limitaes, assim como ocorre com todas as pessoas frente aos empecilhos enfrentados durante
toda a vida.
5) Mediao: o mediador um auxiliar que ajuda o heri a superar os obstculos e alcanar
seus objetivos, protegendo-o dos perigos. Aqui temos as fadas, mediadoras mgicas que guiam,
orientam e protegem Moanna durante as provas. O Fauno parece ser, acima de tudo, um men-
sageiro, mas no podemos ignorar o modo ambguo como ele nos apresentado, deixando a
dvida sobre ser ele realmente um mensageiro do Reino Subterrneo.
6) Conquista: o heri finalmente conquista o objetivo almejado, atingindo assim a auto - realiza-
o. Moanna prova ser a princesa to esperada aps o auto sacrifcio durante a ltima prova,
ao renunciar conscientemente ao retorno ao Reino Subterrneo (ao se recusar a entregar o beb
para ser sacrificado) e perder a vida como Oflia quando Vidal atira nela ao tomar-lhe o beb.
Esse retorno se d como recompensa por sua coragem em seguir seus princpios, sua capacida-
de de renncia e de auto - sacrifcio quando necessrio, mesmo que involuntariamente.
CONCLUSO
O objetivo deste breve ensaio foi estabelecer um paralelismo entre a literatura e o cinema, focan-
do mais especificamente a migrao e a adaptao da obra literria para a Stima Arte.
O grande apelo dos contos de fadas para pessoas de todas as idades , sem dvida, sua relao
com a vida de cada um de ns, como afirma Propp: No h dvida de que o conto encontra,
geralmente, sua fonte na vida. (COELHO, p. 113)
A leitura dessas histrias ajuda a criana e o adolescente a fundamentarem suas personalidades
e a reconhecerem em si mesmos a existncia de tudo aquilo que necessitam para superar as difi-
culdades e realizar aquilo que desejam. Para os adultos, mesmo aqueles que no tiveram contato
com essas narrativas anteriormente, podem transmitir mensagens e at mesmo colaborar para a
elucidao e cura de problemas psicolgicos, como na medicina tradicional indiana, em que um
conto indicado para que o paciente o leia e medite sobre ele at chegar a uma soluo.
Apesar de toda a tecnologia existente hoje, o uso da literatura como meio incentivador da ima-
ginao, do fortalecimento psicolgico e da convivncia entre as pessoas continua sendo de
grande importncia. Bruno Bettelheim, psicanalista estudioso dos contos de fadas sob o vis da
linha freudiana, afirma que o conto de fadas deve ser preferivelmente contado e no lido, e que
CI ANTEC
// 125 //
mesmo quando lido, no deve conter ilustraes, para que a imaginao do leitor no seja tolhida e
influenciada pela imaginao do ilustrador.
O cinema, porm, no comete essa transgresso, pois ao dar vida aos contos de fadas de modo
singular, agua a imaginao e a curiosidade de um nmero enorme de pessoas.
O Labirinto do Fauno um conto de fadas da categoria dos contos iniciticos, ou seja, que narram
a preparao do heri para um evento importante. Neste caso, Moanna, ao cumprir as provas, no
s confirma ser a princesa perdida, como aprende a tomar suas prprias decises e arcar com as
conseqncias. Dessa forma, sem perceber, ela amadurece e se prepara para exercer a funo
que lhe reservada: subir ao trono pronta para reinar com sabedoria e justia
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
VON FRANZ, Marie-Louise. A interpretao dos Contos de Fadas. Ed. Paulinas, 1990, So Paulo.
ROCHA, Everardo P. Guimares. O que mito. Brasiliense, 1989, 4ed., So Paulo.
BETTELHEIM, Bruno. A Psicanlise dos Contos de Fadas. Paz e Terra, 2002, 16 ed., Rio de Janeiro.
BARROS, Clia Silva Guimares. Pontos de Psicologia Geral. tica, 1991, 8ed., So Paulo.
JUNG, Carl G & outros. O homem e seus smbolos. Nova Fronteira, 2002, 23 ed., Rio de Janeiro.
COELHO, Nelly Novaes. O Conto de Fadas: Smbolos, Mitos, Arqutipos. Difuso Cultural do Livro. 2003,
So Paulo.
NASIO, Juan David. Lies sobre os sete conceitos cruciais da psicanlise. Transmisso da Psicanlise:
1992, Rio de Janeiro.
SOUZA, Angela Leite de. Contos de Fada: Grimm e a Literatura Oral no Brasil. Editora L. 1996, Belo
Horizante.
APPIGNANESI, Richard & ZARATE, Oscar. Conhea Freud. Proposta Editorial, 1979, So Paulo.
BELINSKY, Tatiana. Os Contos de Grimm. Paulus Editora, 1989, So Paulo.
APROXIMAES ENTRE A PUBLICIDADE FORMAL E
INFORMAL: HIBRIDAO E MESTIAGEM COMO FATORES
CRIATIVOS
LOURDES GABRIELLI - UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE - DOUTORA EM COMU-
NICAO E SEMIOTICA (PUCSP)
RESUMO // Os formatos clssicos de argumentao so ferramentas de convencimento que atra-
vessaram sculos e adaptaram-se s diferentes tecnologias de comunicao, sempre levando em
conta as condies culturais de cada sociedade. Diferentes sistemas culturais podem proporcio-
nar elementos que, associados s tradicionais ferramentas, geraro usos e resultados especficos,
caractersticos e, possivelmente, eficazes. Desta forma, qualquer produto cultural/comunicacional
traz em sua tessitura, como recurso de convencimento, elementos culturais que aproximam emissor
e receptor, num caminho de mo dupla. Este estudo pretende apontar algumas questes decorren-
tes da condio de complexidade cultural das sociedades mestias presentes no processo criativo
CI ANTEC
// 126 //
de peas publicitrias formais e informais, atravs de estudos da cultura, das mediaes, e da
linguagem publicitria.
ABSTRACT // Approaches between the formal and informal advertising: cultural complexity as creative
factor. The classic formats of persuasion tools had crossed centuries and became adapted to
different technologies of communication, always taking in account the cultural conditions of each
society. Different cultural systems can provide elements that, associates to the traditional tools, will
generate specific uses and results, characteristic e, possibly, efficient. Thus, any communication/
cultural product bring, as source of persuasion, cultural elements that approach sender and re-
ceiver, in a path of double hand. This study aims to point some questions about cultural complexity
of the crossbred societies in the creative process of formal and informal ads, through studies of
the culture, media and advertising language.
INTRODUO
O presente estudo tem como objeto as ferramentas persuasivas da publicidade formal e sua
aplicao na publicidade informal brasileira. Para estabelecer os parmetros comparativos,
se toma como base as questes da multiculturalidade da sociedade brasileira, levando em
conta os elementos de hibridao e de mestiagem, de acordo com sua participao no
procedimento criativo.
A denomi nao empregada neste estudo trata como publ i ci dade formal aquel a vei cul ada
nos grandes ve cul os de massa, e que necessi ta recursos tecnol gi cos em sua produ-
o. O que denomi namos publ i ci dade i nformal so as mani festaes que tem ampl i tude
regi onal , vei cul ada em mei os aos quai s tem acesso qual quer ci dado que desej e real i zar
uma comuni cao comerci al : apl i caes ou i nscri es no cho, pi nturas em paredes,
pl acas em suportes em geral , em arvores, em ani mai s etc. A produo destas mensa-
gens no requer sofi sti cados procedi mentos tcni cos, nem mesmo dom ni o da l i nguagem
verbal formal .
Desta forma, buscamos identificar elementos de aproximao entre os dois tipos de comunicao
comercial no emprego de ferramentas persuasivas, considerando questes culturais especficas
das sociedades mestias.
COMPLEXIDADE CULTURAL E EFERVESCNCIA
As sociedades possuem normas culturais com certo grau de fixidez: o denominado imprinting
cultural, que segundo E. Morin (2001:28), o centro da constante busca pelo novo. As normas so
rompidas atravs da dialgica de linguagem, gerada a partir da pluralidade de pontos de vista, que
acarreta debates internos com crticas e contestao, numa crise de linguagem que gera regresso
ou progresso, quando o dilogo retomado ou ento o conjunto da sociedade passa a assumir a
CI ANTEC
// 127 //
novidade como dogma.
A complexidade cultural a relao entre os padres estabelecidos e a continua busca do novo,
uma ameaa constante aos padres, gerando desvios e ebulies pelo dilogo e pelo conflito.
A prtica de desvios/ebulies, segundo Morin, potencialmente presente nas sociedades e o
grau de efervescncia aumenta quando acontecem os encontros culturais, mais presentes em so-
ciedades com caractersticas histricas de mestiagem cultural. O encontro de elementos culturais
diversos gera o que Canclini (2000:19), Burke (2003:39) e Gruzinski (2001:61) denominam hibri-
dao.
No se trata de acmulo de elementos, nem tampouco de sntese ou justaposio, mas de rea-
propriaes, gerando um terceiro elemento, hbrido, num processo metonmico, de coexistncia
entre parte e todo.
Tal efervescncia, geradora de hibridaes, permite aproximar complexidade cultural de mestia-
gem. Permite, em conseqncia, flagrar correlaes entre as sries culturais e os procedimentos
culturais complexos. A seguir, algumas possibilidades de conexo com a publicidade:
A PROPAGANDA E COMPLEXIDADE CULTURAL: ALGUMAS APROXIMAES
Algumas das principais caracters-
ticas das culturas que apresentam
traos de complexidade cultural
Caractersticas de algumas sries culturais, en-
tre elas a propaganda e possveis ferramentas
incentivadoras da criatividade -
Sociedades de estilo rpido, multi-
miditicas, indepen-dentemente dos
recursos comunicacionais tecnolgi-
cos disponveis.
A- Opera a traduo intercdigos na construo
das mensagens, cruzando o cdigo da propa-
ganda com o cdigo do veculo no qual insere
a mensagem. B- Intertextualidade entre os cdi-
gos verbal e visual.
Percebem, incentivam e acolhem o
surgimento de novas formas.
A-Utiliza-se da linguagem coloquial, obtida a
partir do rompimento de normas lingsticas nos
aspectos sintticos, semnticos, ortogrficos,
fonolgicos e morfolgicos. B- Humor, C- Eroti-
zao, D- Regionalizao, E- Convivncia de di-
versos textos culturais, F- Miscigenao tnica
ARTIFICIALIZAES NEO-BARROCAS
Muitos elementos presentes na cultura latino-americana so elencados por autores como Severo
Sarduy(s/d), Omar Calabrese (1987), Moreno (1979), Zumthor (1993) entre outros, como forma-
doras das caractersticas barrocas e neo-barrocas, utilizadas para definir a cultura miscigenada,
oposta s hegemonias e pronta para digerir e se reapropriar, de forma inteligente e tolerante, de
elementos mestios policulturais,
CI ANTEC
// 128 //
Sarduy, por exemplo, desenvolve trs tipos de artificializaes utilizadas no processo de construo
de mensagens a partir do uso de elementos barroquizantes. A substituio, o primeiro deles, uma
substituio de significado ao nvel do signo, quando o significante substitudo por outro, alheio,
criando a metfora. Segundo este procedimento, encontramos, entre outros exemplos, peas pu-
blicitrias que tem como elemento integrante do processo criativo as caractersticas do veculo no
qual se insere, neste caso, a substituio de um elemento por outro. O segundo tipo de artificiali-
zao a proliferao, que oblitera o significante de um determinado significado, no propondo
uma substituio por outro, mas uma progresso metonmica, que substitui o significante ausente.
Neste caso, anncios buscam metonimicamente interagir com o suporte, atravs da utilizao
dos mesmos recursos grficos daqueles. A terceira a condensao, onde ocorre a unio de
elementos de uma cadeia significante gerando um terceiro, que resume semanticamente os dois
primeiros. o caso de anncios que se utilizam de caractersticas editoriais dos veculos, criando
uma pea hibrida entre publicidade e editorial.
HIBRIDAO E MESTIAGEM
As caractersticas neo-barrocas apontam, por um lado, para processos de hibridao, que acon-
tecem em pelo menos duas frentes. A mistura de caractersticas do veculo com a pea veicu-
lada, como apontado, a primeira e a interao verbal x visual, a segunda, numa referncia
intratextualidade. Neste caso, quando a relao entre as informaes verbais e visuais na pea
publicitria no de complementaridade, o poder de impacto da mensagem pode diminuir por-
que o tempo de dedicao do receptor decodificao da mensagem tende a aumentar, o que
afeta, como conseqncia, o poder de persuaso da mesma.
As caractersticas neo-barrocas apontam tambm para processos de mestiagem, com a pre-
sena na comunicao de caractersticas como Humor, Coloquialidade, Erotizao, Regionali-
zao, Convivncia de diversos textos culturais e Miscigenao tnica, com referncia con-
textualidade, quando percebemos que tais caractersticas, segundo Severo Sarduy (s/d: 170),
so aplicveis s culturas mestias com maior vigor.Trata-se de elementos mestios facilmente
encontrveis na publicidade brasileira.
MARGINALISMO DO ALTERNATIVO
Segundo Martn-Barbero (2002:218-221), cai por terra, na atual Amrica Latina, a separao que
identificou a massificao dos bens culturais com degradao cultural, permitindo elite aderir
modernizao tecnolgica, e conservando o rechao democratizao e socializao da
criatividade. Ainda segundo o autor, so trs os movimentos que caracterizam essa tendncia. O
primeiro, o movimento de ruptura com o comunicacionismo, que a tendncia ainda bem forte de
acreditar que a comunicao constitui o motor e o contedo ltimo da interao social. O segundo
movimento a ruptura com o midiacentrismo, que a identificao da comunicao com os meios.
Na Amrica Latina, os meios ainda fagocitam o sentido da comunicao, relegando a segundo pla-
no a questo das prticas, situaes e contextos de usos sociais e modos de apropriao.
CI ANTEC
// 129 //
O terceiro movimento a busca pela superao do marginalismo do alternativo e sua crena numa
autntica (aspas do autor) comunicao que se produziria sem a contaminao tecnolgico/
mercantil dos grandes meios. Essa autenticidade ou pureza anda de mos dadas com a viso de
Frankfurt de que a indstria um forte instrumento de desumanizao e a tecnologia um obscuro
aliado do capitalismo, e com o populismo nostlgico que acredita que existe uma comunicao
participativa, horizontal, escondida no mundo popular. Esta uma forte oposio viso hegem-
nica, continua Barbero, pois fornece alternativas marginalizao social e permite experincias
microgrupais.
Entre elas, podemos destacar a publicidade informal, reconduzida ao centro a partir da cons-
tatao de que seus recursos construtivos so, sob alguns aspectos, praticamente os mesmos
da publicidade formal. Do elenco de ferramentas incentivadoras da criatividade apresentadas
no quadro acima, todas transparecem, sem exceo, tanto em anncios veiculados na grande
mdia quanto em placas de rua. So ambas reconhecidas como mediatizadas, ainda que com
instrumentos diferentes de produo, isto , com ferramentas mais ou menos tecnolgicas. Alm
disso, se pode considerar tambm ambas massificadas, ainda que a publicidade informal possa
ser entendida como pertencente a um segmento de massa, j que seu alcance, embora massivo,
restrinja-se s regies onde so exibidas. A denominao de segmento de massa foi acrescen-
tada h poucos anos ao repertrio da publicidade brasileira, significando a diviso de grandes
massas de pblico alvo por algum critrio adequado estratgia de comunicao, como por
exemplo, tribos urbanas.
PUBLICIDADE FORMAL E INFORMAL
Os procedimentos persuasivos da publicidade formal so originrios, em grande parte, dos ins-
trumentos da retrica clssica. Em culturas com as mesmas caractersticas se pode verificar o
emprego das mesmas ferramentas construtivas, com resultados em grande parte semelhantes.
O que verificamos, entretanto, que nas culturas mestias em geral, e na cultura brasileira, em
particular, encontramos adaptaes destas ferramentas, com objetivo de aproximao da mensa-
gem e receptor. Alm do fato natural da comunicao apresentar-se como uma via de mo dupla,
onde as mediaes so elementos constituintes da comunicao, sociedades policulturais como
a brasileira adaptaram o uso de recursos clssicos, ou ainda, lanaram mo de certos recursos
em detrimento de outros.
Pode-se considerar, desta forma, que os dois procedimentos Hibridismo e Mestiagem so
complementares no processo de produo de comunicao publicitria, uma vez que os recursos
de hibridao esto mais prximos da retrica clssica e so flagrantes na publicidade de um
modo geral. J os formatos mestios, ainda que transpaream tambm na publicidade em geral,
so mais presentes na publicidade produzida nas sociedades complexas, pois so latentes na
linguagem destas sociedades.
Desta forma, caracterizam-se procedimentos criativos pouco comuns, com resultados idem. A pu-
blicidade informal, entre ns, bastante comum, e se o receptor de mensagens publicitrias formais
produz mensagens publicitrias informais com os mesmos recursos persuasivos das primeiras,
CI ANTEC
// 130 //
sinal de que as decodifica habilmente, o que ajuda a entender os bons resultados da publicidade
brasileira, seja enquanto investimento/retorno, seja como emprego de solues criativas reconhe-
cidas internacionalmente, atravs das premiaes das quais participa, no s como concorrente
muitas vezes vencedor, mas tambm como participante de corpos de jurados.
Os recursos persuasivos de que tratamos so formatos hbridos e/ou mestios que transparecem
em peas publicitrias, criados originalmente para atender s necessidades de comunicao da
publicidade veiculada na mdia de grande circulao, mas que foi sendo absorvida pela publici-
dade informal, que rene as mesmas caractersticas, tendo como diferena construtiva as decor-
rncias da linguagem do suporte no qual veiculada.
CONSIDERAES FINAIS
A publicidade informal, recurso comunicativo bastante difundido no Brasil, aponta para caracte-
rsticas especficas da sociedade e busca romper as barreiras da mediatizao hegemnica. O
designer alemo Erik Spiekermann, quando esteve no Brasil participando de debate no Instituto
Goethe, em So Paulo, 1998, notou:
O nmero de borracharias, chaveiros, cabeleireiros na cidade muito grande e a disputa pela
clientela, acirrada. Por isso comum a utilizao de elementos de fcil identificao, e distn-
cia. Recursos como desenho de chaves ou sua aplicao em passeios cimentados, ou desenho
de pneus substituindo o O na palavra borracharia, tambm so largamente empregados. Na
Alemanha, se algum precisar de um servio como estes, procurar na Internet ou em uma lista
telefnica(...).
Vale a pena ressaltar que tais caractersticas no aportaram em nossa sociedade atravs da
cultura de massa e nem tampouco com as mdias digitais, mas este acolher de elementos vem
acontecendo diariamente, em processos barroquizantes de incluso, durante o processo de for-
mao cultural.
O presente levantamento busca apontar a existncia e valorizar as aes comunicacionais no
hegemnicas, atribuindo sociedade habilidades decorrentes da complexidade cultural.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
CALABRESE, OMAR. A Idade Neobarroca.Lisboa: Edies 70, 1987.
CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas Hbridas. S. Paulo:Edusp, 2000.
______________________. La modernidad despus de la postmodernidad, em Modernidade: vanguarda ar-
tstica na Amrica Latina (prg. Ana M. de Morais Beluzo). So Paulo: Memorial/UNESP, 1990.
GRUZINSKI, Serge. O pensamento Mestio. So Paulo: Cia das Letras, 2001.
________________. A Guerra das Imagens. SoPaulo, Cia das Letras, 2006.
HALL, Stuart. A Identidade cultural na ps-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.
MARTN-BARBERO, Jess. Ofcio de Cartgrafo. Santiago: Fondo de Cultura Econmica, 2002.
MORENO, Csar Fernndez. Amrica Latina em sua Literatura. So Paulo: Perspectiva, 1979.
MORIN, Edgar. O Mtodo 4. As idias. P. Alegre: Sulina, 2001.
SARDUY, Severo. Barroco. Lisboa: Veja, s/d.
ZUMTHOR, Paul. A Letra e a Voz. Traduo de Amalio Pinheiro e Jerusa Pires Ferreira. So Paulo: Companhia
das Letras, 1993.
CI ANTEC
// 131 //
REPRESENTACIONES DE CIUDAD Y CONSTRUCCIN DE
ESTTICAS URBANAS: LOS EFECTOS DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIN MASIVOS EN LA PERSPECTIVA INFANTIL, EN
BOGOT D.C.
MAGDALENA PEUELA URICOECHEA - ANTROPLOGA MAGISTRA EN PLANEACIN URBA-
NA Y REGIONAL - PROFESORA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA DE BOGOT
RESUMEN // Esta ponencia recoge parte de los resultados del la investigacin: Las construcciones
identitariasa partir de las representaciones sociales de los espacios cotidianos: Un estudio con
nios(a) raizales y emplazados, en Bogot, concluido en la U, Javeriana de Bogot, en 2007
16
.
Se invito a participar a nios(a) de diferentes estratos socioeconmicos del D.C., y se incluy a
nios(a) en situacin de desplazamiento forzado por violencia. La caracterstica comn de todos
fue ser escolares y estar en la franja de edad comprendida entre 11 y 13 aos.Se aplic una
estrategia metodolgica mltiple, que combin estrategias cualitativas y cuantitativas. Se trabaj
con cartas, que intercambiaron los nios de Bogot con nios de Manizales.
Esta ponencia presenta los resultados referidos a la influencia de los medios de comunicacin
masivos, en las representaciones, expresiones de identificacin y construccin de las estti-
cas urbanas, de los nios que participaron en una investigacin sobre este tema, con el mbito
urbano de Bogot D.C. Para aproximarse a las construcciones identitarias de los escolares, se
tomaron como fuente para abordar el estudio antropolgico, cartas escritas por ellos con dos
referentes de anlisis: el efecto de los espacios construidos en los que se desarrolla su cotidia-
nidad, en sus expresiones de representacin, y las prcticas sociales legibles en las cartas, que
detonan estos escenarios, en las cuales el uso y abuso de los medios de comunicacin masivos
es de enorme influencia. Los resultados provienen de la aplicacin de las propuestas conceptual
y metodolgica, en donde se combinaron estrategias cualitativas y cuantitativas y que permitieron
la creacin de un modelo de anlisis diseado especficamente para este proyecto.
PALABRAS CLAVE // Nios(a), representaciones sociales, identidades, medios de comunicacin ma-
sivos, espacios urbanos cotidianos, estticas.
ABSTRACT // The following academic discussion, presents the results of a study related to use,
representation and space - identification expressions, and aesthetic constructions carried out by a
group of children who participated on a research about this topic. In order to approach the identity
constructions of school students, letters written by them, with two analysis referents as sources to
undertake the anthropological study, were taken: In first place, the effect of built spaces in which
children develop their daily life on their representations expressions, which includes aesthetic crite-
ria, and the social practices that are readable in the letters, and start those scenarios. Results arise
from applying conceptual and methodological proposals that combined qualitative and quantitative
16 FICHA TCNICA DEL PROYECTO - Las construcci ones i denti tari as a parti r de l as representaci ones soci al es de l os
espaci os coti di anos: Un estudi o con ni os(a) rai zal es y empl azados, en Bogot D.C. | Investi gadora Pri nci pal : Magdal ena
Peuel a Uri coechea | Asesor a Li ng sti ca: Andrs Rei noso | Asesor a Estad sti ca: Rosal ba Ardi l a Ardi l a | Enti dad Fi nanci a-
dora: Ponti fi ci a Uni versi dad Javeri ana Vi cerrector a Acadmi ca
CI ANTEC
// 132 //
strategies, which conducted to create a specifically designed analysis model for this project.
KEY WORDS // children, daily life spaces, identities, social representations, aesthetic constructions
Djeme ponerlo de esta manera: No el nio(a), sino la imaginacin del
adulto sobre el nio(a) Michael Taussig
LA INFANCIA EN EL SIGLO XXI
La infancia se ha visibilizado con gran fuerza desde la ltima dcada del siglo XX. Actualmente,
hay una verdadera eclosin de trabajos e investigaciones al respecto y ello obedece funda-
mentalmente a un debilitamiento y cuestionamiento sobre las concepciones de infancia que
fundamentaron el trato a los menores al menos durante 150 aos en el mbito de la cultura
occidental. Estamos pues en una poca de reformulacin de la infancia (Steinberg y Kincheloe.
2000), por as decirlo.
La infancia, como representacin social y categora de anlisis que nos es familiar, puede
definirse como una construccin social, que tuvo su apogeo entre 1850 y 1950, respectiva-
mente. Durante este periodo los nios dejaron de ser obreros de las fbricas, como lo haban
sido durante la primera fase de la revolucin industrial, en Europa y se entiende e impone
la necesidad de educarlos: la escuela y el colegio, se consolidan como sus escenarios de
aprendizaje, conjuntamente con la nocin de la responsabilidad de los adultos para su
desarrollo adecuado.
Mientras tanto, psiclogos infantiles de la talla de Gesell y Piaget, plantearon que el desarrollo
del nio estaba determinado por sus caractersticas biolgicas. Sin embargo, Piaget, generaliz
sus teoras y anlisis a todas las culturas y pocas histricas. Esta homogenizacin histrico-
social contribuy a considerar los desarrollos biolgicos de la infancia fijos e inmutables y a que
varias generaciones de nios(a), fueran evaluados bajo una taxonoma de desarrollo, que no
corresponde a la realidad de los diversos contextos sociales y culturales, en los cuales crecen y
se desarrollan en las primeras etapas de su vida.
En la actualidad, bajo la gida de la revolucin informtica y en tiempos de cambios y replan-
teamiento del orden social la concepcin de infancia ha entrado en entredicho. La segunda
mitad del siglo XX, trajo consigo el desmembramiento de la familia tradicional as como nuevas y
diversas configuraciones familiares, que enfrentan desafos para la crianza de los nios(a), para
los cuales las categoras de desarrollo infantil preestablecidas (por la psicologa clsica y an la
misma pedagoga, entre otras disciplinas), estn dejando de ser operativas.
Actualmente los escenarios de la educacin infantil, adems de las instituciones escolares in-
cluyen lugares en los que el poder se organiza y se despliega por as decirlo: televisin, cine,
Internet, juegos de video, juguetes, bibliotecas, libros, entre otros. En esta poca se hace im-
perativo segn Giroux (1994) comprender el proceso educativo a finales del siglo XX, requiere
que examinemos tanto la pedagoga en la escuela como la pedagoga cultural (en Steinberg y
Kincheloe .2000. pp17).
CI ANTEC
// 133 //
INVESTIGACIN CON CARTAS
Esta ponencia tiene soporte en una investigacin sobre las representaciones infantiles de sus espa-
cios de desempeo cotidiano y como se constituyen en detonadores de procesos identitarios en los
nios. El mtodo empleado fue un intercambio de cartas, entre nios de Bogot D.C. y una capital
departamental, la ciudad de Manizales.
Una de las caractersticas de la investigacin, es que se desarroll con base en la interaccin
entre los nios, quienes expresaron espontneamente sus propias realidades y tambin que se les
valor como actores sociales autnomos, para los anlisis posteriores. Estas caractersticas de la
propuesta, pueden enmarcarse dentro de los postulados de la nueva Ley de Infancia, #1098 de
2006, en la cual se considera a los nios sujetos de derechos.
ASPECTOS METODOLGICOS DE LA INVESTIGACIN:
Para llevar a cabo el proyecto mencionado, los criterios de seleccin de los nios(a) fueron: edad:
la franja 11-13; escolaridad (proceso de lecto-escritura completado); condicin socioeconmica,
expresada por el tipo de institucin educativa: colegios privados, colegios pblicos; instituciones
de formacin educativa y laboral; instituciones pblicas musicales y organizaciones que atienden
desplazamiento forzado; tanto nios nacidos en Bogot, como emplazados ahora en el Distrito
Capital. Esta propuesta, tuvo como escenario de expresin el mbito escolar, mientras que los
niveles de contexto fueron: capitalino (local), regional y nacional.
El trabaj con cartas implic que los nios(a) de Bogot, escribieran una carta en la cual descri-
bieron con total autonoma apartes de su cotidianidad a los nios de Manizales, quienes hicieron
lo mismo para los nios de Bogot. El fin fue establecer una comunicacin escrita entre los
nios(a) de ambas ciudades. Los escritos de los nios(a) de Bogot, fueron objeto de los anlisis
que fundamentan esta ponencia.
En la fase de campo, se recolectaron 130 cartas en total, de las cuales se escogieron 113,
atendiendo las especificidades de la propuesta. Al trmino de la recoleccin y trascripcin de la
informacin, estas se entregaron a los nios participantes en ambas ciudades.
La importancia de las cartas est convalidada por el hecho de que una de las formas en las cuales
el pensamiento adquiere materialidad es en el discurso (escrito en este caso), por la manera como
se combinan ideas y se concretan en palabras, aparecen las expresiones de representacin.
Adicionalmente, al requerir que los nios(a) participantes elaboraran discursos a travs de textos
escritos, se posibilit un proceso de comunicacin entre pares y no slo dirigida por y hacia los
investigadores (Peuela, M., 2007. Informe Vicerrectora Acadmica. Proyecto 1964). Aunque los
contenidos de las cartas tienen varios filtros a considerar, como el hecho de que los nios fueron
convocados a escribirlas, no fue un proceso espontaneo y el escenario fueron planteles educativos,
que imponen ciertos parmetros de rigor y disciplina, que podran cohibir la libre expresin de los
menores. Sin embargo, para los participantes fue una propuesta novedosa que pudieron asumir
sin la supervisin de docentes o padres y que incentiv su natural curiosidad e inters, como lo
muestran en sus comunicaciones.
CI ANTEC
// 134 //
Para realizar esta investigacin, se construy un modelo de anlisis que integr metodologas cualita-
tivas y cuantitativas, diseado desde la perspectiva sistmica, con el concurso de disciplinas como:
antropologa, lingstica, sociologa, filosofa, psicologa social y crtica literaria, principalmente, que
permitieron establecer categoras de anlisis para combinar un anlisis de contenido y un anlisis
del discurso, con el fin de relacionar las narrativas epistolares y los campos de significacin de los
contextos socio-espaciales, en que se desarrolla la cotidianidad infantil. Posteriormente, estos se
cotejaron con los resultados de los anlisis cuantitativos, que permitieron complementar el mo-
delo, midiendo la recurrencia de las prcticas sociales habituales de los nios(a) y que permiten
analizar sus niveles de identificacin con personas, espacios y objetos entre otros.
La investigacin pretendi igualmente conocer el universo simblico del nio, sus deseos; expec-
tativas; necesidades y la forma de construccin de su yo y del otro (Reinoso. 2007 Proyecto 1964.
Anlisis del discurso).
El propsito de construir matrices de correlacin para los anlisis cualitativos contenido y dis-
curso- e integrarlas en un modelo, fue cotejar el contenido de las cartas desde tres perspectivas
diferentes -incluye el anlisis cuantitativo-, para entender las construcciones representacionales
y de identificacin de los nios. Adems, el modelo permite captar diferentes aspectos, sin que
sea una perspectiva disciplinar particular la que predomine y constituyndose en una configura-
cin que permite analizar la informacin obtenida en las cartas. Lo anterior, siempre con relacin
al contexto social, que en este caso muestra las diferencias sociales al interior de la ciudad.
LINEAMIENTOS CONCEPTUALES
La manera en que la infancia aprehende una sociedad y se identifica con ella, esta profundamen-
te ligada a las forman en que se organizan: la familia, las relaciones de alteridad (entre pares,
superiores e inferiores), la escuela, el trabajo y el ocio, entre otros. Al respecto, Carmen Luke
(1990) ha sealado que las relaciones sociales, polticas y econmicas dan forma a los concep-
tos de la infancia (En Steinberg, et al., 2000. pp.133). En la investigacin realizada, se consider
que la poblacin infantil es afectada de manera profunda, tanto por estos factores como por la
disposicin y oferta espaciales en que se desarrollan sus actividades cotidianas.
Adicionalmente, al dar a los nios(a) el rol de sujetos protagnicos y fomentar una comunica-
cin de tipo horizontal, fue posible aproximarse a sus maneras de pensar y construir su mun-
do. Adems, al asumir El carcter autnomo de la infancia como fenmeno social y cultural
(Vern.1995. pp.110), analizar y entender los cdigos con los cuales representan y a apropian
el mundo. Por ello, era importante permitirles que pudieran expresarse con y a travs de sus
iguales, pues cabe presuponer que de esta forma, habr mayor fluidez en la expresin de sus
representaciones, si ellos las construyen desde sus propias perspectivas sin excesiva interferencia
por parte de los investigadores-adultos.
Para el desarrollo de este proyecto, fue central el concepto de imagen, como una de las expresio-
nes de la identidad. Para trabajarlo desde la antropologa, se tomaron elementos especficamente
de la obra de Michael Taussig, de cuyo libro Mimesis y Alteridad, surgi la comprensin de la ima-
CI ANTEC
// 135 //
gen, que se propone como ncleo de la representacin para efectuar los anlisis en este proyecto.
Al respecto, dice textualmente a Taussig, la imagen es ms poderosa que aquello de lo cual es
imagen (Taussig,M.1993. pp.62), es decir de aquello que representa. Por esta razn, fue que se
propuso que se constituyera en el ncleo mismo de la representacin, pues se trata de una imagen
entendida como sinnimo de similitud (mimesis), pero una similitud inmaterial, que es aprehendida
desde lo escrito y cuya esencia subyace a las externalidades del momento.
Con esta imagen como punto de partida, se trabaj con las representaciones sociales de los
participantes -definidas por Serge Moscovici y Denise Jodelet, una de sus ms cercanas discpu-
las y a quien correspondi operativizar por as decirlo, la teora al respecto- como una forma de
entender y pensar la realidad cotidiana: una forma de conocimiento social. Cabe recalcar que
para Moscovici (1984), son la comunicacin y el lenguaje, los ejes centrales de su teora sobre
Representaciones Sociales.
En cuanto a la identidad(es), en la medida que la pregunta de fondo era respecto a las construc-
ciones identitarias que se consolidan desde las representaciones sociales de los espacios coti-
dianos, los planteamientos de Rik Pinxten, antroplogo belga, sobre la identidad (es), orientaron
los anlisis sobre el tema. Este autor, propone un estudio comparativo para conceptualizar la
identidad(es) como un fenmeno dinmico, con tres niveles claramente diferenciados: el indi-
viduo, el grupo y la comunidad. La identidad individual concierne a la persona en s misma; la
identidad de grupo se define por las relaciones interpersonales reales, mientras que la identidad
comunitaria, en principio, trasciende en el tiempo y en el espacio a los individuos y a los grupos
existentes.(Pinxten,R.,1997.pp18) Estos planteamientos dieron soporte conceptual a la investi-
gacin realizada y se convalidaron en las cartas de los nios.
En cuanto a la forma como se construye el pensamiento infantil y se van perfilando las
identidades, los planteamientos de Michael Taussig, respecto a la facultad mimtica fue-
ron definidamente orientadores porque el anlisis de las construcciones identitarias de los
nios(a), convalidan uno de sus planteamientos al respecto: Los nios(a) en cualquier lugar
y en cualquier poca y las personas en la antigedad y en las sociedades supuestamente
consideradas primitivas, estn dotados por sus circunstancias de poderes mimticos consi-
derables (Taussig, M.1995. pp. 187).
Entre otros autores, que la misma lnea de pensamiento, se puede citar a Shierry Weber, quien
haciendo referencia y analizando apartes de La infancia en Berln, de Walter Benjamin, afirma:
en pocas palabras el lenguaje puede mediar la asimilacin mimtica del s mismo en el otro y
refirindose claramente a este proceso en la infancia: El nio(a) est desfigurado por la semejan-
za con cada cosa que lo rodea (Weber, S.1997. pp.143). Efectivamente, en la etapa de infancia
la importancia de identificarse con el otro y ser otro, esta exacerbada -aunque en las etapas ms
tempranas el otro no tiene que ser necesariamente humano, particularmente en las primeras etapas
de la niez, cuando el nio(a) puede mimetizarse con un objeto o un animal e incluso un ser ima-
ginario que suscite su inters-. Lo anterior, implica que la capacidad de mimesis se experimenta y
expresa en esta etapa de la vida, trminos de alteridad -en este caso una alteridad extendida ms
all de lo humano- y refuerza el planteamiento de que uno de los pilares de los procesos de apren-
CI ANTEC
// 136 //
dizaje y de difusin de las representaciones sociales, es la imitacin.
Al respecto, Beatrice Hanssen, de la universidad de Cambridge, corrobora estos planteamientos
En ltimas, nuestro don de ver similitudes prueba el rudimento dbil de una compulsin mucho ms
poderosa, la de convertirse en similar y de comportarse mimticamente (On the mimetic faculty,
pp720. En: Cambrige Companions to Walter Benjamin. Hanssen, B. 2004. pp. 68). Caracterstica
muy evidente en esta etapa coyuntural del desarrollo de los nios cuando ya estn en el umbral
de la adultez y previo paso a esta etapa se mimetizan con sus pares de edad, donde encuentran
seguridad y apoyo.
En cuanto a la importancia de la alteridad, tanto en los procesos mimticos como en las construc-
ciones identitarias, cabe resaltar los planteamientos de M. Bajtin, quien dice al respecto: Inicial-
mente, tomo conciencia de m a travs de los otrosAs como el cuerpo inicialmente se forma
en el vientre de la madre (dentro de su cuerpo), de la misma forma la conciencia humana se
despierta envuelta en la conciencia del externo (Bajtin, M. 38,342, en Todorov. 1981. pp. 148).
Puede entonces afirmarse que en la tensin mimesis-alteridad, es que aparecen y se consolidan
tanto las representaciones sociales como las construcciones identitarias, como se corrobora en
los resultados de la investigacin realizada.
Finalmente, en relacin a la interpretacin de resultados decir que: Las representaciones socia-
les, estn compuestas por un conjunto de contenidos relacionados a los contextos y condicio-
nes en donde surgen y a las formas de comunicacin que las difunden en el grupo social. Los
contenidos de las representaciones sociales condensan el conocimiento de los grupos sobre
ellos mismos, los otros y los objetos. Tanto las representaciones sociales como las identidades,
estn ligadas a prcticas sociales, que permiten conocer formas y expresiones culturales, que
varan segn el contexto.
LA IDENTIDAD Y EL OTRO:
En primer lugar, en el anlisis de los contenidos de las cartas, se evidenci que las construc-
ciones identitarias infantiles, se construyen con y por el otro, es decir en trminos de alteridad,
con base en expectativas personales (moldeadas por el contexto familiar y social inmediatos y
permeados por las directrices del estado, muy presentes en los medios de comunicacin masi-
vos) y dependientes de la capacidad de negociacin exitosa o lo contrario, que experimente cada
nio, en las diferentes situaciones y contextos, en que se desarrolla su cotidianidad. Lo anterior,
explica su alta frecuencia de variabilidad. Adicionalmente, tienen como sustrato el proceso din-
mico entre mimesis y alteridad, entre pares en este grupo de edad. (Peuela. M. 2007. Informe
Vicerrectora Acadmica. Proyecto 1964. P.U.J).
Tambin, es importante destacar que los nio(a), hacen declaraciones de afecto a su posi-
ble interlocutor, sin tener certeza de que recibirn respuesta y en ocasiones sin enviar una
direccin real o virtual (e-mail), que garantice que la comunicacin con ese otro, sea efectiva.
Lo anterior, corrobora los planteamientos de Bajtin, quien afirma refirindose al acto creativo
de escribir que: Cada enunciado tiene siempre un destinatario (de diferente naturaleza y en
CI ANTEC
// 137 //
diferentes grados de proximidad, de especificidad y de conciencia), del cual el autor busca
y anticipa la comprensin respondiente (Bajtin en Todorov. 1981. pp 170). La comprensin
respondiente, traduccin literal, hace referencia a la interpretacin del otro y a su posibilidad
de identificacin con el enunciado. A continuacin, algunas expresiones infantiles muy de-
mostrativas de lo anterior, en una institucin donde los nios se capacitan en oficios que les
permitan subsistir en la ciudad y en un colegio privado de antigua tradicin capitalina (tiene
402 aos de fundado)
FUNDACIN CRECIENDO UNIDOS
Me gustara ver si Usted es tal como yo soy (Cartas.2007. Proyecto 1964.
P.U.J.)
COLEGIO SAN BARTOLOM NACIONAL
En esta carta te digo y concedo todo lo que soy yo y espero que tu carta
sea igual a la ma y que podamos contarnos nuestros deseos y secretos.
(Cartas.2007. Proyecto 1964. P.U.J.)
Este tipo de declaraciones aparece casi en el 40% de las cartas y permiten ver que en las
construcciones identitarias, tiene enorme importancia el otro y el deseo mimtico de identifi-
cacin con l. Este sentimiento est asociado a la aceptacinde ese otro, o al encuentro de
s mismo en ese otro, que se evidencia o subyace en las expresiones escritas. En las frases
priman las expectativas por el otro, porque escriben para su par en edad y escolaridad a quien
no conocen personalmente, es un otro imaginado a quien sin embargo, hacen declaraciones
como: As no te conozca, te quiero (Cartas.2007. Proyecto 1964. P.U.J.), donde el deseo mi-
mtico por el amigo(a), se manifiesta con fuerza espero que me consideres tu amigo como yo a
ti(Cartas.2007. Proyecto 1964. P.U.J.).
Otras expresiones son de negociacin, cuyos fines tambin son acercarse al otro buscando una
reciprocidad que preceda la identificacin mimtica. Otro aspecto a destacar es la importancia
de que supieron que el interlocutor era de su mismo grupo de edad, lo cual que motiv decla-
raciones como:Aunque no te conozca, s que puedo hablar con un poco ms de confianza
(Cartas. 2007. Proyecto 1964. P.U.J.), puesto que no haba que temer la sancin de una figura
de autoridad, ni la incomprensin o indiferencia de un interlocutor de muy poca edad o diferente
nivel de escolaridad.
En este punto es importante destacar que si bien la facultad mimtica en relacin al otro par en
edad y escolaridad, tiene gran importancia en las construcciones representacionales de los nios(a)
-al ubicarse en el contexto actual del siglo XXI- vale la pena indagar sobre otros factores que tienen
gran influencia para ellos y en los cuales ella tambin es primordial. Aparecen en primer lugar los
medios de comunicacin masiva en sus diferentes modalidades: televisin, computador e Internet,
los mayor mencin en las cartas y atendiendo a la teora de las representaciones sociales, cabe des-
tacar que estas aparecen en el discurso en forma jerarquizada y decreciente en importancia.
CI ANTEC
// 138 //
LOS MEDIOS Y LAS IDENTIDADES: EL OTRO VIRTUAL?
Los resultados de la investigacin, perfilan a los medios de comunicacin masiva, con nfasis en
televisin e Internet, como importantes modeladores de las representaciones sociales de las per-
sonas de esta franja de edad, y por ende claramente influyentes en sus construcciones identitarias,
que detonan procesos no solo de dinmicas individuales sino sociales e incluso nacionales, cate-
gorizadas con base en los planteamientos de Pinxten (1997).
Por lo anterior, los gustos de los nios que expresan sus representaciones individuales, obedecen
en un alto porcentaje a los dictmenes de consumo masivo de los medios. En trminos de prefe-
rencias musicales, programas de televisin (donde la influencia de la programacin extranjera es
avasalladora), la imposicin de los diferentes ritmos, estilos y preferencias infantiles, proviene de
los medios. Este proyecto evidenci en los resultados esta afirmacin.
En este orden de ideas, el otro, tan ansiosamente buscado en las cartas, como su par en edad
y escolaridad, puede estar prefigurado por los estndares fsicos y de carcter de series de te-
levisin forneas quiero que esta carta la reciba un nio, alto, mono y de ojos verdes (Cartas.
2007. Proyecto 1964. P.U.J.), mientras que los gustos y aficiones, estn frecuentemente construi-
dos con base a la oferta de consumo de los medios, fue casi unnime la mencin al Play Station 2
y al X-.box, como juegos favoritos, an en los nios de mayor nivel de vulnerabilidad
LA IDENTIDAD VIRTUAL.
En la misma lnea de resultados de esta investigacin, tambin se puede destacar la consoli-
dacin de una reciente construccin identitaria individual: La direccin electrnica o e-mail, que
cobra enorme fuerza e importancia en los nios, como forma de comunicacin a la vez que los
identifica de manera individual e irrepetible y por propia escogencia. Tanto el password como
la clave, son escogidos de forma personal, evidenciando intereses y rasgos de personalidad
propios de cada persona. Las direcciones electrnicas, aparecen casi en la totalidad de nios
de los colegios San Bartolom La Merced, Champagnat y San Bartolom Nacional (Fundacin
que alberga a nios de estratos 3 y 4, principalmente) y es cercana al 59% del total de cartas. De
hecho los nios cuentan orgullosos en mi colegio, todos tenemos e-mail (Cartas. 2007. Proyec-
to 1964. P.U.J.). Otras referencias a Internet, aparecen con menor frecuencia en participantes de
las dems instituciones o no se menciona como es el caso de los participantes de la organizacin
social Taller de Vida, que atiende a nios en situacin de desplazamiento forzado.
En relacin a la forma como los nios van apropiando la ciudad y van construyendo sus identi-
dades e inclusive sus criterios estticos urbanos, los resultados muestran igualmente la influencia
poderosa y modeladora de los medios:
En relacin con los ecosistemas naturales que enmarcan o persisten en la ciudad, de las ocho
instituciones participantes, la mencin a los elementos naturales del paisaje urbano, se limitaron a
5 de ellas. Los nios del Taller de Vida, cuya llegada a la ciudad es reciente, no hicieron mencin
alguna.
Con siete (7) menciones de un total de once (11), de elementos naturales de la ciudad, el cerro de
CI ANTEC
// 139 //
Monserrate aparece como el accidente topogrfico ms representativo de la Capital, para los nios
que participaron en el proyecto. Adicionalmente, aparecen 2 menciones a las montaas y una a
los humedales, en uno de los nios(a) de Batuta- Mrtires. Por lo anterior, no podra afirmarse que
la identificacin de los menores con los accidentes naturales de la ciudad, sea significativa. En
la medida que las construcciones identitarias, estn amarradas a prcticas sociales, tambin se
evidencia que la cotidianidad de los nios (a), no est ligada a prcticas de apropiacin de estos
elementos naturales de la ciudad, que tambin son formadores de ciudad e identificadores por
excelencia de los mbitos urbanos.
La consolidacin de la identidad urbana y los criterios estticos de belleza y confort, se manifies-
tan entre otros aspectos- en el reconocimiento y expresiones de apropiacin en relacin a las
construcciones edilicias de la ciudad de carcter monumental o histrico. Se tabularon los resul-
tados (Vase Anexo 1), de estas menciones en las cartas con los siguientes resultados:
No hay mencin a edificaciones de significacin urbana o histrica de la capital, en el 75,97%,
de las cartas. Por lo tanto, se repiten las consideraciones expresadas para los ecosistemas na-
turales. Aunque aqu se trata de construcciones representativas de la Capital y de todas formas
hay un mayor reconocimiento, pues el nmero de referencias es muy superior al cuadro anterior.
Aparecen 129 referencias, porque en la misma carta pueden sealarse dos, tres o ms lugares
de la ciudad, lo cual no implica que todas las cartas tienen al menos una mencin a espacios
construidos. Sin embargo, muestra la diferencia en la capacidad de representacin de ciudad en
los nios, ligada a factores sociales y econmicos principalmente.
La informacin indica que la nocin de Centro de la ciudad, aparece imprecisa en trminos de
funcin e importancia en las cartas, y ms an el Centro Histrico propiamente dicho, del cual
slo aparecen dos referencias del total de 113 participantes, 1 en un alumno(a) de la FCMSB17,
ubicado precisamente all y otra en un alumno(a) del SBM18. En los nios de los sectores sociales
ms deprimidos y en los nios que pasaron por desplazamiento forzado, son inexistentes.
El mximo de referencias son 4 por institucin: Casa de Nario 4 FCMSB y 1 en SBM; con cuatro
referencias: el Museo del oro, 2 en 19FCU y 2 en FCMSB, respectivamente; con tres: Plaza de
Bolvar, 2 en MSB y 1 en SBM y Plaza de toros de Santamara: 2 en Batuta Mrtires y una en SBM.
Con 2 menciones: Casa de la Moneda; Catedral Primada; Palacio de Justicia, Senado y Centro
Histrico: 1 cada en FCMSB y SBM, respectivamente. Las dems, son referencias unitarias: el
Planetario y el Museo Nacional -que se esperara tuvieran una mejor acogida infantil, pues son
itinerario obligado de escuelas y colegios- una nica mencin que es interesante para el anlisis,
lo mismo que la Catedral de sal (Zipaquir). Finalmente, una mencin particular a Transmilenio, el
sistema de transporte masivo en Bogot, en MSB.
Los alumnos de la FCMSB, son los que ms referentes edilicios significativos de la Capital referen-
ciaron por la proximidad del colegio al costado sur-oriental- de la plaza de Bolvar, en sus cartas.
Especialmente, hicieron nfasis en aspectos relacionados con la ubicacin del colegio en el Centro
de la ciudad y en los lugares de inters, que hay a su alrededor. Sin embargo, es de anotar que tan
17 Si gl a para Fundaci n Col egi o Mayor de San Bartol om.
18 Si gl a para Col egi o San Bartol om l a Merced
19 Si gl a para l a Fundaci n Creci endo Uni dos
CI ANTEC
// 140 //
solo uno(a), ubic al plantel en el Centro Histrico de la Capital.
Hacer tabulaciones para conocer los lugares especficos de apropiacin diaria de los participantes,
en trminos de aproximar sus prcticas cotidianas que son modeladoras de procesos de apropiaci-
n y territorializacin de la ciudad, mostr la manera como los menores se representan a si mismos,
en trminos de las actividades que los identifican en cuanto a nivel socioeconmico y capacidad
adquisitiva, que tambin muestran como se va sectorizando la ciudad espacialmente, en cuanto a
oferta de bienes y servicios y cobertura a la poblacin capitalina (Vase anexo 2).
Las menciones cubren menos del 50% del total de cartas. Los lugares pueden clasificarse, con
base en las referencias de las cartas de la siguiente manera:
Parques de diversiones: Mundo Aventura, Salitre Mgico, Parque de la 93, City Aqua park; par-
ques: Simn Bolvar, el Tunal y Jaime Duque (fuera del permetro urbano de la Capital).
En este tipo de espacios, los lugares de mayor reconocimiento para todos son: Mundo Aventura,
11 menciones en: las sedes Batuta de Cazuc y Mrtires, Fundacin Creciendo Unidos, Colegio
Champagnat, y SBM -5 veces, incluye una referencia a la montaa rusa de ese parque- y Salitre
Mgico, 8 menciones en las mismas instituciones, aunque la frecuencia es menor; el parque 93,
tuvo 2 menciones, una de ellas de un nio(a), que vive muy cerca, lo mismo el parque Simn
Bolvar. Finalmente, con una referencia: El Tunal, mencionado en Batuta- Cazuc, y parque Jaime
Duque, en Batuta Mrtires. Cabe destacar que no hubo casillas ni institucin en blanco, en
este cuadro
Centros comerciales: Andino (2), Unicentro (2), Salitre Plaza (2), Santaf y San Andresito, cada
uno con una nica mencin, para un total de ocho (8).
Lugares didcticos temticos: Maloka, Museo de los nios y Jardn Botnico.
Maloka, lidera con 5 menciones: 1 en Batuta Mrtires y 4 en SBM, mientras que el Museo de los
nios tiene dos y el Jardn Botnico, aparece en una ocasin. En este cuadro se evidencia poca
frecuencia e identificacin de actividades culturales para la infancia como conciertos, danza y
an teatro, que no son mencionados por los nios(a), a pesar de que algunos son alumnos de
Batuta, pero no hay referencias ni de la actividad ni del espacio que les sirva de escenario, en
ninguna de las instituciones escolares.
Restaurantes: El Corral (2 menciones); Crpes y Waffles y Fridays, una cada uno con una referencia.
Almacenes de cadena: Carrefour y xito, una mencin cada uno, sin especificar la sucursal.
Tambin, se encontraron en las cartas de algunos colegios, referencias a la ciudad que expresan
las representaciones de los nios sobre la Capital (Vase anexo 3), con los siguientes resultados:
Calificativos urbanos: 1.- positivos: grande/muy grande/la ms grande, 11 referencias, 8 in-
cluyen de las ms grandes del pas; bonita/linda, 7 referencias (incluye bonita sobretodo en
Navidad); 5 referencias con el calificativo de bacana; chvere, 4 menciones; 4 hermosa
(incluye hermosa por sus edificios); y otros como tranquila, pacfica, complaciente, la
mejor, entretenida y tesa , entre otros 1 vez. (Cartas.2007. Proyecto 1964. P.U.J.).
El total de referencias positivas, es cercana al 45% del total en el cuadro
CI ANTEC
// 141 //
2.- negativos: un poco peligrosa, 1 referencia, en este cuadro. Sin embargo, en las referencias a
barrios y a sectores escolares, entre otros aparecen nuevamente representaciones de riesgo o de
amenaza en las cartas.
Estos resultados muestran que el escenario urbano como tal, tiene una imagen de posibilidades
ilimitadas de accionar y de oportunidades de todo tipo, que es atractiva para quienes la viven y la
describen, en esta franja de edad. Las ventajas e intereses citadinos superan los riesgos en cuan-
to al contexto capitalino en general. Aunque generales e imprecisos, estos calificativos, son los que
permiten acercarse al sentido esttico de los menores. La propuesta urbana edilicia, la enorme
dimensin, la iluminacin nocturna y la enorme oferta de actividades y posibilidades, son las varia-
bles preferidas que la asocian con belleza y puede decirse que con calidad de vida urbana.
En cuanto a lugares de uso cotidiano en este anexo 3, el liderato corresponde a Centros comer-
ciales, con 6 referencias; colegio/centros educativos: 5 referencias; catedrales, edificios, zonas
de trabajo, zona industrial y edificios de oficinas, restaurantes, piscinas, 1 mencin cada una. La
referencia preferente a centros comerciales sobre otros referentes espaciales construidos, per-
mite analizar la tendencia haca la prioridad consumista representada, al privilegiar este tipo de
edificaciones, diseadas para el consumo masivo y los intercambios comerciales.
Instalaciones de ocio: parques bonitos y grandes, 9 menciones (incluye parques de diversiones
con 2 referencias -sin mencionar el nombre especfico- y muchos parques con 1, en general se
hace referencia a parques de barrio y zonas verdes); cinemas y sitios tursticos y naturales, 2
referencias respectivamente; piscinas, restaurantes, y sitios en las afueras, centros culturales, 1
cada uno (Cartas.2007. Proyecto 1964. P.U.J.).
Clima: fro, 7 referencias; llueve y clima feo, 2 referencias cada una; a veces hay sol, 1
mencin (Cartas.2007. Proyecto 1964. P.U.J.). Las referencias al clima no son positivas y suman
un total de 12, muy prximas al 10% del total de cartas y son significativas en la medida que el
factor climtico cobra fuerza en la representacin de ciudad que tienen los menores.
Habitantes: gente amable y bella, 2 referencias; gente chvere; ladrones matones y
vndalos, tambin 2 referencias cada una; gente del carajo y gente muy mala, raperos y
punketos y metachos, mucho desplazado (forzado por violencia) y todo tipo de personas,
una cada una (Cartas.2007. Proyecto 1964. P.U.J.).
Aqu puede apreciarse que en la representacin de los bogotanos, hay un cierto equilibrio entre
las imgenes positiva y negativa, respecto a la calidad humana de los ciudadanos. Aunque, per-
siste un sentimiento de amenaza urbana y tambin respecto a la diversidad, que evidentemente
caracteriza a la poblacin tanto en Bogot D.C., como en las capitales en general.
Actividades: diversin; hacer resto de cosas; llena de oportunidades; muchas cosas que
ver; muchas cosas para hacer; salir con la novia o los amigos a pasear; no he salido mu-
cho (que parece expresar: no tengo otros referentes espaciales comparativos); la vida es muy
bacana, en Bogot; se maneja todo lo que tiene que ver con el pas; se puede hacer de todo
(Cartas.2007. Proyecto 1964. P.U.J.).
La atraccin que ejerce la ciudad para los autores de las cartas, est representada por la enorme
CI ANTEC
// 142 //
gama de posibilidades que se les ofrece en diferentes campos y actividades. Su percepcin est-
tica, ms que a la belleza edilicia o a su significacin representativa, parece estar ms ligada a sus
ventajas de oportunidades de diferentes esferas de actividad.
Otras caractersticas de Bogot: Capital del pas y D.C., 3 menciones; industrializada; mucha
tecnologa y puertas abiertas, 1 mencin cada una (Cartas.2007. Proyecto 1964. P.U.J.). Es
interesante que los nios identifican a Bogot como la Capital del pas, pero no estn muy familia-
rizados con su condicin de Distrito Capital.
REFLEXIONES PARA EL CIERRE
Los resultados de los anlisis de esta investigacin, permiten apreciar las diferencias en las per-
cepciones del mundo, la realidad, el entorno circundante y cotidiano y las maneras de identifi-
carlos que construyen los nios(a). En efecto, las cartas los nios(a) muestran toda una gama que
incluye expresiones afectivas, espaciales, objetuales y de oportunidades, que oscilan entre una
alta capacidad adquisitiva de bienes y posibilidades de desempeo hasta la ms precaria -desde
familias nucleares completas y confortadoras para los nios(a), a familias con 1 sola cabeza de
familia -preferentemente madre en la situacin de desplazamiento-hasta nios(a) que expresan
abandono, miedo y soledad o que estn confinados en instituciones, algunos de ellos no co-
nocen a sus familias, ni hacen mencin de ellas-. Algunas construcciones identitarias, estn
ligadas a situaciones familiares, socioeconmicas o urbanas que establecen diferencias entre los
participantes, otras son comunes para todos los nios(a) sin distingo de clase o condicin.
La necesidad de conocer y aproximarse al mundo de los nios desde sus propias construccio-
nes, mostr que las cartas de los nios estn pensadas, redactadas y jerarquizadas con base
en sus propias lgicas de conocimiento y con dominios bien diferenciados, que pueden cate-
gorizarse para su comprensin. Adems, los nios mayores de 10 aos, son exponentes de sus
procesos de socializacin y de las responsabilidades sociales y culturales que han adquirido y
que son legibles en sus cartas.
En el mundo tecnificado del siglo XXI, los nios se ven bombardeados por una enorme cantidad
de informacin, con frecuencia contradictoria, que proviene de los medios y que en ocasiones
suple la presencia de uno o de ambos padres y de un ncleo familiar protector. A la maravillosa
capacidad de mimesis que caracteriza a la infancia, se le ofrece un vasto campo de estmulos
visuales y virtuales, cuya influencia no puede ni debe tomarse a la ligera. En particular, si se
espera comprender las intenciones de las mltiples posibilidades de identidades e ideologas
que se ofrecen en los medios. En otro orden de ideas, entender las oportunidades de acceder a
diferentes experiencias, cdigos y lenguajes culturales, y la forma como las asimilan personas de
tan temprana edad cuyo criterio est an en formacin.
En el proyecto de investigacin terminado que fundamenta esta ponencia, la importancia de los espa-
cios cotidianos y de su representacin, en las construcciones identitarias de menores con edades com-
prendidas entre 11 y 13 aos, mostr su importancia como detonador de procesos sociales y urbanos,
tanto de reconocimiento como de desconocimiento o de indiferencia, en una etapa crucial de la vida,
CI ANTEC
// 143 //
donde ocurre la consolidacin y afirmacin de los valores de quienes muy pronto sern adultos.
Las representaciones de los nios sobre los espacios naturales y construidos de la ciudad en la que
viven su cotidianidad, deben ser objeto de reflexin por varios factores:
En primer lugar las expresiones de apropiacin y territorializacin, son casi inexistentes en cuanto se
refiere a la Capital. Aunque, esta tiene una imagen atrayente y se representa en trminos de oferta casi
ilimitada- de bienes y servicios. Las expresiones de representacin de los autores de las cartas, la
muestran como una entidad autnoma y distante, por ejemplo: es frecuente encontrar nac en Bogot
y la ciudad es hermosa versus expresiones como soy de Batuta o soy del equipo de ftbol de mi
colegio, Peuela, 2007. Proyecto 1964. Cartas. P.U.J.), donde los niveles de pertenencia y apropiacin
no requieren de demasiados anlisis. Slo existe un nico caso en las 113 cartas, en el cual la autora
afirma: soy de Bogot, municipio de Cundinamarca (Cartas.2007. P.U.J.).
La diferencia Norte-Sur: Especficamente, en trminos de ciudad es interesante anotar que Bogot
D.C., aparece escindida claramente en dos sectores Norte y Sur, segn las afirmaciones de las
cartas: En el norte vivimos los ms beneficiados, en el sur los ms pobres y Los estratos
altos, donde hay buenas cosas estn en el norte, en el sur son niveles entre 1 y 4, en estrato,
contrastado con Donde yo vivo, el barrio no tiene servicio de gas natural, porque es en el sur de
Bogot hay mucho muerto, Mi barrio se llama Santo Domingo, no vivo muy bien (Cazuc)
y Vivo en Bogot en el sur y mi barrio se llama Luis Carlos Galn (Cartas.2007. Proyecto 1964.
P.U.J.). Mientras que al norte, se le atribuyen ventajas de todo orden, al Sur, carencias, violencia
y esttica urbana deficitaria, entre otros.
Las representaciones urbanas del Distrito Capital, aparecen mayoritariamente en referentes
construidos o edilicios. La imagen del Distrito Capital -en las palabras de los nios- aparece
como un mosaico compuesto de referentes espaciales positivos: hermosa, con muchos cen-
tros comerciales y cines, y de advertencias de potencial de riesgo o peligro: no hay buena
seguridad; hay mucho desplazado; hay rateros y maleantes (Cartas.2007. Proyecto 1964.
P.U.J.). La ciudad es apropiada por sectores, pero no como un todo, en este grupo de edad. De
la misma manera, aparecen las referencias a los espacios ldicos, escolares y de transferencia,
entre otros.
El calificativo grande, muy grande que se repite frecuentemente para referirse a la Capital, no
deja de tener un matiz de amenaza y riesgo no expresado explcitamente: puedo perderme o
puede pasarme cualquier cosa desagradable La estrategia entonces, es apropiar sectores o
edificaciones de menor escala, donde la cotidianidad es segura: mi casa o mi barrio o mi cole-
gio, entre otros, donde adicionalmente se dan las relaciones protectoras y reconfortantes -aunque
desafortunadamente no en todos los casos-. As aparecen mis padres, mis hermanos o mis
amigos, entre otros. Sin embargo, aunque el escenario urbano es muy atrayente, los pobladores
ajenos al ncleo familiar, escolar y de amistades, aparecen como potencialmente riesgosos y de
cuidado en la representacin de los menores.
La capital, es representada como un mosaico muy diverso compuesto por localidades, sectores,
barrios y edificaciones, con diferentes niveles de significacin para los participantes en el proyecto
que da fundamento a esta ponencia. Lo anterior, obedece a que las representaciones sociales, var-
CI ANTEC
// 144 //
an en sus expresiones y connotaciones, dependiendo de los contextos sociales y culturales, donde
se construyen y consolidan. Sin embargo, las de tipo institucional o estatal son comunes a un mayor
ncleo de poblacin.
La identificacin con los edificios que por su valor histrico, esttico y significacin en la vida nacio-
nal, que pueden ser considerados como potentes medios de comunicacin del transcurrir urbano
y humano de la ciudad, es poco significativa para los nios que participaron en este proyecto. Las
construcciones identitarias personales y las representaciones de ciudad no parecen nutrirse con
las quimeras que armamos en lugares como estos (hitos urbanos), pueden contener imgenes
y porciones de imgenes que son ms potentes ideolgicamente que aquello que recibimos di-
rectamente de la iglesia o de la escuela y de la doctrina poltica (M. Taussig, 1995: pp. 68) y las
representaciones colectivas de los mismos se van diluyendo gradualmente en el desconocimiento
y desinters generalizado de las nuevas generaciones. Si los edificios significativos histricamen-
te o representativos del poder del estado no hay ninguna mencin al Capitolio como edificio-
pierden su valor e importancia para las nuevas generaciones, cabe preguntarse qu elementos
mantendrn la memoria urbana y la apropiacin e identificacin de la fuerza del estado en ciudad
por parte de sus habitantes, en el mediano plazo?
El desapego haca los ecosistemas y elementos naturales que enmarcan y an persisten en la
Capital, es otro aspecto para destacar en trminos de identificacin, esttica y de la sostenibili-
dad urbana que esta generacin podr ofrecer a Bogot, en su futuro adulto. En efecto, los dife-
rentes cursos de agua que otrora identificaban a la Capital y hoy estn canalizados y convertidos
en cloacas abiertas, en diferentes sectores capitalinos, slo alcanzan una nica mencin, lo mis-
mo los humedales, que han recibido sin embargo mucha publicidad recientemente, en el total
de cartas. Las referencias a Monserrate, estn muy ligadas a la iglesia y a la posibilidad de ver
a Bogot desde otra perspectiva y al inters turstico, no necesariamente esttico. Demasiado
temprano para tales expectativas? No ms bien tarde, porque estos procesos de identificacin
deben fomentarse tempranamente en las personas, para que cuando el adulto tenga capacidad
decisoria y de accin, tenga la sensibilidad y el entusiasmo de colaborar en la solucin de proble-
mas ambientales en este caso, que directa e indirectamente estn ligados a la esttica urbana.
Los escenarios de actividades culturales se resumen en los parques de diversiones, parques
temticos y parques de barrio. Las hermosas y modernas bibliotecas que son orgullo de Bogot,
brillan por su ausencia, en la representacin de una generacin cada vez ms involucrada en
el mundo virtual. Al respecto, se encontr una nica referencia que daba cuenta de me gusta
ir a la biblioteca, pero sin mayores especificaciones sobre el particular (Cartas.2007. proyecto
1964).
Un ltimo punto a destacar, es la carencia de referentes espaciales de los nios que sufrieron
desplazamiento forzado y de algunos nios de los estratos ms bajos de la poblacin. Esta imposi-
bilidad de representacin y de expresin espacial, implica la imposibilidad de apropiar, identificar
y territorializar los espacios fsicos privados y pblicos en que viven. El desconocimiento total que
tienen al respecto y la impotencia para iniciar estos procesos, es uno de los desafos a enfrentar
como secuela del desplazamiento y /o del maltrato infantil, pues en una carta en la cual una nia
CI ANTEC
// 145 //
(que no fue desplazada), relata que fue violada, tampoco aparece ningn referente espacial mencio-
nado. En trminos de la construccin de apropiacin y arraigo al D.C., con base en los resultados
del proyecto, este grupo de edad requiere de atencin especial y de programas y estrategias, que
los aproximen al mbito urbano en el cual se desarrollan sus vidas, de una manera ms incluyente
y participativa.
En cuanto a la construccin de estticas urbanas infantiles remarcar que a diferencia de la afirmaci-
n de Gadamer de un modo evidente, la arquitectura y las artes decorativas permanecan insepa-
rables del conjunto de la configuracin de la vida(Gadamer,1998.pp.306). La anterior afirmacin
referida a pocas que abarcaron hasta el siglo XVIII inclusive, en la actualidad se ha modificado
sustancialmente. Los nios que participaron en este proyecto no identifican estilos arquitect-
nicos, su nocin de belleza urbana es muy general y contraria a anteriores criterios estticos al
respecto, tiene finalidades concretas. Estas se expresan en el criterio de seguridad -aunque a
veces no fue explicito las cartas- si est implcito en sus afirmaciones, porque le permita al ciu-
dadano acceder a la variada gama de ofertas de bienes y servicios urbanos con el menor nivel
de riesgo a su integridad.
En las instalaciones edilicias, la apuesta es que provean una gama de bienes y servicios como
ocurre con los centros comerciales, espacios para deambular y mostrar capacidad adquisitiva.
Adicionalmente, estos espacios estn enmarcados en sitios del tipo no-lugar, as definidos
por Marc Aug, donde las relaciones e interacciones que se establecen no son las de mayor
significacin ni permanencia, frecuentemente son interacciones casuales, circunstanciales y de
poca trascendencia en al vida de las personas. Sin embargo, parecen evolucionar a sitios de
encuentro y a sitios donde dejarse ver en la ciudad, que permiten una clara identificacin social
para los autores de las cartas. Ms que el estilo, se privilegian las posibilidades de interaccin
que ofrecen los espacios, al menos en este grupo de edad. La esttica parece estar ligada
a posibilitar diferentes esferas de accin, ms que a criterios estticos espaciales o edilicios
determinados para quienes participaron en este proyecto. El apasionante, mgico y cambiante
mundo virtual, al que es posible asomarse desde los medios, parece tener la llave maestra de los
criterios estticos en consolidacin de los participantes en este proyecto y de sus pares en edad
en nuestra capital y en cercanas y lejanas latitudes de nuestro mundo globalizado.
BIBLIOGRAFA
Aug, Marc. [1992] 2002. Los no lugares: espacios del anonimato. Una antropologa de la sobremoderni-
dad.: Gedisa. Barcelona
Habermas, Jrgen. 2002. Accin comunicativa y razn sin trascendencia. Paidos. Barcelona.
Hanssen, Beatrice.2004. Language and mimesis in Walter Benjamin. En: Ferris, David (Comp). 2004. The Cam-
bridge companions to Walter Benjamin. Cambridge Press. London. United Kingdom
Gadamer, Hans-Georg. 1998. Esttica y Hermenutica. Editorial Tecnos. Madrid
Moscivici, Serge et al. 1975. Introduccin a la Psicologa Social. Ed. Planeta. Barcelona.
------------------------- 2001. Social representations, explorations and Social Psychology. U. of New York press.
New York. USA
Peuela U., Magdalena. 2007. Informe final proyecto 1964, presentado a la Vicerrectora Acadmica, Pontificia
Universidad Javeriana. Copia en papel y en CD. Bogot.
2007. Representaciones Sociales, Identidades y Espacios: un estudio con nios en
Bogot. Ponencia presentada a la III jornada de investigacin. Facultad de Ciencias Sociales. Pontificia Uni-
CI ANTEC
// 146 //
versidad Javeriana. Copia en papel. Bogot.
2007. Resiliencia y redes de solidaridad: la voz de los nios y las nias. Ponencia
presentada al Congreso de Familia: la resiliencia una opcin para la transformacin. Medelln. CD. Con
ISBN
2008. Representaciones de ciudad y construcciones de territorio e identidades: La
perspectiva infantil en Bogot D.C. Coloquio INJAVIU.2007 Bogot. En trmite de publicacin
Pinxten, Rik. 1997. identidad y conflicto: personalidad, socialidad y culturalidad. Revista CIDOB dafers
internationals. # 36 pp.18
Taussig, Michael. 1993. Mimesis and Alterity: A particular history of the senses. Routledge. London. U.K
-----------------------.1995. Un gigante en convulsiones. El mundo humano como sistema nervioso en emer-
gencia permanente. Gedisa. Espaa
-----------------------. 2003. Law in lawless: Diary of a limpieza in Colombia. Chicago press. Pp153.
Todorov, Tzvetan. 1981. Mikhail Baktine: Le principe dialogique suivi dcrits du cercle de Bakhtine. di-
tions du Seuil. Paris. France
Steimberg, Sh. y Kincheloe,J.L.(1997) 2000. Cultura infantil y multinacioales. Morata Ed. Madrid
Vern, Alberto. 2005. Walter Benjamin, pensador de la ciudad: Usos y recepciones en Amrica Latina.
Postegraph. Pereira.
Weber Nicholsen, Shierry.1997. Exact imagination, late work on Adornos aesthetics. MIT press. Massa-
chusetts. U.S.A
Zabala, Iris. 1996. Escuchar a Bajtin. Novagraphic. Espaa
HIPERMSICA: UMA CONSTRUO SONORA NO-LINEAR
MRCIO DUARTE -
RESUMO // Hoje, em meio aos avanos tecnolgicos, muito se fala sobre hipermdia e multimdia,
porm, alguns artistas j pensavam de maneira a criar composies utilizando-se desses con-
ceitos muito antes da popularizao da internet. As caractersticas do hipertexto, e suas ligaes
no-lineares, assim como a no-constncia de ritmo nas navegaes pela internet, gerou uma
reflexo sobre a seguinte analogia: a msica composta sempre pelas mesmas sete notas bsi-
cas (D, R, Mi, F, Sol, L e Si) e seus acidentes (# - sustenido e b - bemol), a combinao entre
elas quase infinita. Se levarmos em considerao, assim como no hipertexto, suas variaes
teremos conexes, ou seja, seu ritmo meldico. Ao modificarmos o cadenciamento de uma melo-
dia, iniciamos uma seqncia de notas, porm, em um novo espao de tempo.
Temos ento, que o hipertexto ao ligar-se por seus ns (elos) a outras estruturas (sites), acessan-
do uma informao, inicia um novo caminho, derivado, sim, da busca primeira, mas encadeada de
uma nova e singular forma, assim como a msica tambm aceita sempre um reincio a cada varia-
o de escala ou tempo. Quando inserimos o conceito de no-linearidade na msica, quebramos
a harmonia e conseqentemente as escalas rtmicas perdem sua funo se base meldica. Porm,
quando nos valemos do pensamento clssico grego, que as partes so importantes para que exista
um todo, com a hipermsica o mesmo acontece. As partes seqenciadas de maneira aleatria, o
silncio que prevalece e a no constncia de harmonia ou rtmo, constituem uma composio sonora
CI ANTEC
// 147 //
complexa ao ouvinte desatento, mas uma experincia nica quando nos atemos aos detalhes que
so apresentados no seu todo.
PALAVRAS-CHAVE // hipermsica, hipermdia, msica, no-linear, internet
ABSTRACT // Today, in way to the technological advances, much is said on hypermedia and multime-
dia, however, some artists already thought in way to very create compositions using itself of these
concepts before the popularization of the Internet. The characteristics of hypertext, and its nonlin-
ear links, as well as the not-constancy of rhythm in the navigations for the Internet, generated a
reflection on the following analogy: music is composed always for same seven basic notes (C, D,
E, F, G, A and B) and its accidents (# - sharp and b - flat), the combination between them is almost
infinite. If to lead in consideration, as well as in hypertext, its variations we will have connections,
that is, its melodic rhythm. When modifying the cadency of a melody, we initiate a note sequence,
however, in a new space of time.
We have then, that hypertext when leaguing itself for its we (links) to other structures (sites), having
access an information, initiate a new way, derived, yes, of the search first, but chained of a new
and singular form, as well as also accepted music always a restart to each variation of scale or
time. When we insert the concept of not-linearity in music, break the harmony and consequently
the rhythmic scales lose its function if melodic base. However, when we are valid in them the
Greek classic thought, that the parts are important so that one exists all, with the hypermusic the
same happen. The sequenced parts in random way, the silence that takes advantage and not
the constancy of harmony or rhythm, constitute a complex sonorous composition to the neglect
listener, but an only experience when let us tie in them to the details that are presented in its all.
Keywords: hipermusic, hypermedia, music, non-linear, internet
INTRODUO
A internet ainda atrai muitos entusiastas, mesmo que apenas para questionar sobre o que in-
terativo ou seus avanos como mdia de massa e neste fluxo vrios artistas, alguns muito antes
do grande estouro, por volta de 1995, j pensavam como usufruir dos benefcios da hipermdia
utilizando de seus conceitos, ainda recentes, para suas composies.
Se considerarmos que os documentos hipertexto ou hipermiditicos so compostos por vrias
partes isoladas (textos, sons, imagens, etc) podemos considerar a relao de notas de uma escala
musical sendo um documento nico e que, assim como o link funciona como um elo de ligao
entre vrios documentos e as escalas so apresentadas de maneira que se relacionem partindo
de um ponto comum entre si. As caractersticas do hipertexto, e suas ligaes no-lineares, assim
como a no-constncia de ritmo nas navegaes pela internet, gerou uma reflexo sobre a se-
guinte analogia: a msica composta sempre pelas mesmas sete notas bsicas (D, R, Mi, F,
Sol, L e Si) e seus acidentes (# - sustenido e b - bemol), a combinao entre elas quase infinita.
Se levarmos em considerao, assim como no hipertexto, suas variaes teremos conexes, ou
seja, seu ritmo meldico. Ao modificarmos o cadenciamento de uma melodia, iniciamos uma seq-
CI ANTEC
// 148 //
ncia de notas, porm, em um novo espao de tempo.
Isso possvel pensando ligaes pr-definidas entre si por meio de uma partitura capaz de con-
templar essas variaes, mantendo uma harmonia mnima. Ordenando as seqncias escalas
de forma a cada nota integrar outra escala e assim termos uma infinita variao de combinaes.
Temos ento, que o hipertexto ao ligar-se por seus ns (elos) a outras estruturas (sites), acessan-
do uma informao, inicia um novo caminho, derivado da busca inicial, mas encadeada de uma
nova e singular forma, assim como a msica tambm aceita sempre um reincio a cada variao
de escala ou tempo. Mas quando inserimos o conceito de no-linearidade na msica, quebramos
a harmonia e conseqentemente as escalas rtmicas perdem sua funo como base meldica.
Enquanto a msica mistura suas referencias aos movimentos artsticos, a tecnologia trabalha para
fornecer novas formas de manifestao, oferecendo suporte aos quais elas se desenvolvero. A
relao inarmnica, a insero de rudos, s foi possvel graas aos recursos tecnolgicos e hoje
as produes digitais se valem de todo aparato existente.
O termo hipermdia designa um tipo de estrutura complexa, na qual diferentes blocos de infor-
maes esto interconectados (LEO, 2005), e tem como unidade menor o hipertexto, estrutura
onde se caracteriza pela possibilidade de incluso de textos, som, vdeos, imagens em um do-
cumento que se conecta a outros por meio de links, que so os elos em uma cadeia de informa-
es. Tomando as caractersticas do hipertexto e seu conjunto maior, a hipermdia, vemos que
a formao da informao deve ser reduzida, cada parte precisa ser completa e assim compor
algo maior, se completando com as outras partes e esses blocos se ligam de maneira aleatria,
criando variadas formas de se integrar uma mesma informao. Dessa forma, encontrou-se no
termo Hipermsica uma comodidade gramatical para definir o objeto em questo. A propositura
de algo onde um conceito to metodicamente concebido e ao mesmo tempo to flexvel em
combinaes, mostrou em estudos do professor Eufrsio Prates as relaes no-lineares, neces-
srias ao embasamento terico do assunto.
HIPERMSICA
A msica quntica, ou seja, a no temporalidade da composio musical no sentido das di-
vises temporais, base da composio musical tradicional apresentou uma forma de relao
entre blocos de sons criados previamente, sem a preocupao de sua harmonia meldica, uma
msica desconexa onde, o sentir dos sons e principalmente do silncio, possuem peso neces-
srio ao seu entendimento.
PRATES (1999) nos mostra a necessidade do silncio na msica no-linear, ou quntica como ele
apresenta e sua intrnseca ligao s formas de composio orientais orgnicas que quando
iniciada pode, a qualquer momento ser interrompida, sem perdas ou quebras abruptas. Porm,
quando nos valemos do pensamento clssico grego, que as partes so importantes para que exista
um todo, com a hipermsica o mesmo acontece. As partes seqenciadas de maneira aleatria, o si-
lncio que prevalece e a no constncia de harmonia ou rtmo, constituem uma composio sonora
complexa ao ouvinte desatento, mas uma experincia nica quando nos atemos aos detalhes que
so apresentados no seu todo. Lia Toms (2002) em sua obra Ouvir o lgos, apresenta um pensa-
CI ANTEC
// 149 //
mento extrado de Paidia de Werner Jaeger (1989) que mostra a relao universal das coisas, sob o
olhar clssico-filosfico grego, onde no h perspectiva de partes isoladas e sim uma conexo viva,
na e pela qual tudo ganhava posio e sentido (JAEGER, 1989, p.8. In: TOMS, 2002, p. 29)
Sob o olhar do pensamento clssico grego, as partes s so consideradas quando integrantes de
um todo, dessa forma possuem um carter orgnico, ou seja, no existem isoladas de seu contexto.
Isso nos prova a importncia de todas as partes dentro da composio no-linear que pode ser
construda por sons e pausas que isoladas, so desconexas e desordenadas, porm, ao serem
executadas por um interprete transforma essas notas, ou blocos sonoros, em uma pea musical
completa.
Na msica quntica, os blocos so isolados e no dependem uns dos outros para existirem melo-
dicamente, isso remete ao estudo da Planimetria forma compositiva criada por H. J. Koellreutter
na dcada de 70 que mostra uma tcnica composicional grfica onde utiliza um plano (Figura 1)
para representar graficamente os signos e ocorrncias musicais (PRATES, 1999).
Fugindo da maneira linear e rgida do pentagrama (conjunto de cinco linhas paralelas onde so
transcritas as notas em uma msica), Koellreutter organiza os conjuntos sonoros por meio de
formas e sua seqncia. Durante a interpretao o conduzinte, analisa e se vale de seu repertrio
pessoal para criar uma metfora visual, seguindo princpios dirigidos pela teoria da Gestalt onde
smbolos que se completam, formam os elementos que iro compor o bloco sonoro, a improvisa-
o o grande intuito desse tipo de composio (PRATES, 1995).
FIGURA 1: PARTITURA PLANIMTRICA DA PEA LETTERBLOCKS DE
EUFRSIO PRATES, ENTRE 1991-1992 (PRATES, 1995).
Neste ponto, o interprete utiliza seu repertrio visu-
al, e no apenas musical, para o desenvolvimento
da pea, uma vez que, ao identificar os smbolos de
maneira isolada, podem representar uma sonoridade,
em conjunto com outra, e assim se alterando con-
forme a identificao definida pelo que j de fato,
conhecido. Permeando esse caminho, encontramos
na Teoria da Figuratividade / Figuralidade de Ncia
Dvila (2003 c) uma relao para entender a impor-
tncia do repertrio pessoal do interprete no momento de executar uma pea hipermusical. A ba-
gagem necessria para que ele possa representar os smbolos da partitura. A composio formal
dos elementos, na percepo da partitura, se d por meio de dois aspectos, o logos e o mythos,
onde cada um possui caractersticas prprias, enquanto o primeiro absorve o conhecimento da
forma apresentada e a representa de maneira clara, o segundo busca uma re-representao da
imagem, trabalhando a interpretao na imagem percebida, traos e condies pressupostos,
por meio da crena ou opinio que provm da fantasia, ou mesmo de conhecimentos j adquiridos
anteriormente e que se apresentem como soluo aceitvel para a situao.
A Gestalt tambm utiliza-se desse conhecimento prvio, a fim de ambientar o diagrama para que
CI ANTEC
// 150 //
possa ser reproduzido. Se pensarmos nele, num primeiro momento, sem nenhuma relao sgnica
entre seus elementos, no conseguiremos extrair som algum.
Embora filosofia e arte cedo tenham constitudo trincheiras especficas de
resistncia ao rolo compressor da nova realidade Nietzsche e o roman-
tismo so os exemplos mais evidentes , a arte moderna, em seu conjun-
to, pode ser facilmente entendida tambm como uma espcie de mquina
uma mquina aparentemente rebelde, criadora de rudo em meio or-
dem, mas uma mquina: uma mquina produtora de signos. (BASBAUMA,
2003)
Essa forma no-linear de apresentao musical baseada em variaes na seqncia meldica
de escalas sejam elas harmnicas ou no, busca uma relao aos conceitos de hipertexto, onde
qualquer documento pode ser direcionado para outro, a qualquer momento, sem perdas de in-
formao. A prpria estrutura da internet representa esse individualismo das partes onde cada
pgina pode ser acessada de maneira isolada, sendo ela completa, e ainda assim fazer parte
de um todo, maior, com informaes complementares, integrando seu sentido e formando algo
maior, o site onde est inserida, por exemplo.
Na histria musical, a msica concreta trata desta relao, ela possui seus primeiros registros no
Brasil na dcada de 40, em suas intervenes designa uma composio onde o som em lugar
de ser interpretado se converte em um objeto externo que possui sua prpria realidade espao-
temporal, sua prpria presena. O tempo comea a ser modificado para o aproveitamento de
suas pausas como elemento compositivo. As relaes com o todo so o que regem a criao e
execuo desse tipo de pea musical. E sua diversidade sonora algo impensvel.
PARTES DE UM TODO
O que retorna ao pensar grego onde mais uma vez afirma que so necessrias todas as partes
para que se exista algo completo, com sentido, por isso a importncia do contexto interpretativo
para essas composies. Enquanto nos atemos ao modo ocidental de apenas ouvir os sons e
interpret-los, as construes sonoras hipermusicais devem ser sentidas, ouvidas, faladas, de-
gustadas para que tenham sentido, a audio se torna instrumento perceptivo do intelectual.
Portanto quando pensamos em uma estrutura hipermiditica, no conseguimos distinguir suas
partes como sendo isoladas, so elementos compositores de uma mensagem maior, nica. E as
partes menores so auto-suficientes, elas existem isoladas do contexto maior, porm sem funda-
mentos, soam dissonantes. Assim como na msica, as notas quando no encaixadas em escalas
harmnicas ficam estranhas aos ouvidos. Porm, quando ouvimos uma composio oriental, os
timbres, os sons, os rudos, constroem uma melodia prpria, apenas com notas povoando pausas
ou criando cenrios imaginrios e a hipermsica age da mesma forma, criando caminhos impos-
sveis para os ouvintes.
Assim na composio hipermusical, ou msica quntica como nomeia Prates, temos partes dife-
rentes que quando executadas formam um todo, com significado aparente e indito, pois, ao ser
executada por um outro interprete seu repertrio e sua forma de perceber os conjuntos de sons (ou
CI ANTEC
// 151 //
blocos sonoros) existentes na partitura, exterioriza suas emoes e suas relaes com as formas com-
posicionais que se inter-relacionam como meio e com o tempo de durao de cada compasso.
REFERNCIAS:
BASBAUMA, Srgio. Mquina semitica moderna e a poesia holofractal. Revista Galxia, Vol. 3, No 5, abril 2003.
p. 271-277. Disponvel em: <http://revcom.portcom.intercom.org.br/index.php/galaxia/article/view/1346/1119>.
Acessado em 01 de julho de 2008
BUGAY, Edson Luiz; ULBRICHT, Vnia Ribas. Hipermdia. Florianpolis: Bookstore, 2000.
D`VILA, Ncia R. Le Rythme Statique, la Syncope et la Figuralit In : Smiotique du Beau- org.Groupe
Eidos. Paris I/Paris VIII. diteur: lHarmattan, 2003, p.141-159.
GOMES FILHO, Joo. Gestalt do objeto: sistema de leitura visual da forma. So Paulo: Escrituras, 2004.
LEO Lucia. O Labirinto da hipermdia: Arquitetura e navegao no ciberespao. 3 ed. So Paulo: Ilumi-
nuras, 2005.
PRATES, Eufrasio. Letterblocks para Voz e Instrumentos: Anlise de um pretenso elo orgnico entre a fi-
losofia oriental e uma obra musical planimtrica. Internet: 1995. Disponvel em < http://www.geocities.com/
Vienna/9128/lblock.htm>. Acessado em 11 de maio de 2008.
______________. Msica quntica: em torno de um paradigma holonmico. Braslia: Comunicao e Espao
Pblico, v.1, p.61 - 72, 1997. Disponvel em <http://www.geocities.com/Vienna/9128/index.htm>. Acessado em
11 de maio de 2008.
______________. Planimetria: Esttica do Impreciso e Paradoxal, Internet: 1997. Disponvel em: < http://www.
geocities.com/Vienna/9128/mqplan.htm>. Acesso em 11 de maro de 2008.
______________. Hipermsica: a Planimetria como tcnica hipersgnica de composio musical. Teia Revista
da Associao Brasiliense de Comunicao e Semitica, http://www.absbteia.cjb.net/, 1999. Acesso em 11 de
maro de 2008.
ROCCA, Adolfo Vsquez. Msica y Filosofa; Registros Polifnicos de John Cage a Peter Sloterdijk, En
Encuentros Multidisciplinares,Vol. 8, N 24, 2006, Fundacin General de la UNIVERSIDAD AUTNOMA DE MA-
DRID, pp. 61-69. Disponvel em <http://www.encuentros-multidisciplinares.org/Revistan%C2%BA24/Adolfo%20
V%C3%A1squez%20Roca.pdf>. Acessado em 24 de junho de 2008.
TOMS, Lia. Ouvir o logos: msica e filosofia. So Paulo: Editora UNESP, 2002.
A PLURALIDADE DE OLHARES HOJE, MAIS DO
QUE UMA REALIDADE, UMA NECESSIDADE: O PAPEL DOS
MUSEUS DE ARTE NA EDUCAO
MARIA DE LOURDES RIOBOM - MEMBRO DA UNIDADE DE INVESTIGAO UNIDCOM/IADE -
ESCOLA SUPERIOR DE DESIGN/INSTITUTO DE ARTE DESIGN E MARKETING
PALAVRAS-CHAVE // Arte, Educao, Sensibilidade, Tolerncia, Juzo crtico.
El legislador no debe permitir que la educacin se convierta en un asunto secundario [] El mejor
de todos los ciudadanos debe ser nombrado guardin y supervisor de la educacin [] y esta
funcin debe considerarse como la ms grande de todas las funciones del estado.
20
Como j afirmava Plato na Repblica, a educao no pode nem deve ser deixada ao acaso ou
20 Pl ato, Repbl i ca, 500e / 501 a, b e Lei s, VI 72, ci tado por Terrn, Eduardo, Educaci n y Moderni dad, Entre l a Utopi a
y l a Burocraci a, 1999, Antrphos Edi tori al , Barcel ona, p. 10
CI ANTEC
// 152 //
relegada para plano secundrio, pois s assim, es posible una felicidad pblica que haga del recto
gobierno una verdadera realidad y no un mero sueo.
21
Constatamos efectivamente que no h hoje praticamente nenhum candidato eleitoral que no faa
da reforma educativa um dos pontos fortes do seu programa de governo e, no entanto, o facto de o
discurso sobre a crise da educao ser uma constante h cerca de trs dcadas, mostra bem que
as repetidas propostas de reforma tm sido muito pouco conclusivas e no tm de modo algum
conseguido restaurar a legitimidade educativa.
22
J. Habermas afirmou h j algum tempo que a organizao educativa se depara com uma crise
cultural de motivao
23
e Terrn, socilogo da educao, acrescenta: La funcin motivadora de la
educacin en la experiencia cotidiana de los individuos se arruina tanto ms cuanto menos capaz
es el sistema cultural de subsanar ese dficit de sentido y cuanto ms se aleja su funcionamiento
de los supuestos ltimos sobre los que inicialmente resida su validez normativa.
24
Para este autor, a sensao de crise, hoje sentida por todos aqueles que de um modo ou outro
esto envolvidos na prtica educativa, radica exactamente na crise de legitimidade que atraves-
sam os mitos essenciais sobre os quais se ergueu a sua centralidade social, os ideais atravs
dos quais se estabeleceu nos modos de vida que povoam o sentido comum da modernida-
de. Acrescenta ainda que, a espiral de estratgias compensatrias no consegue alcanar a
motivao necessria para garantir o consenso e a lealdade de que a organizao necessita,
traduzindo-se assim a crise numa questo de identidade: - Em que consiste realmente educar?
O que educar para o futuro?
Para Terrn estas questes apresentam claras semelhanas com aquelas que h duzentos anos
se colocaram os intelectuais do Iluminismo que forjaram a nossa viso moderna do mundo: - O
que o Iluminismo e at onde deve ir?
Para este autor, a elite intelectual do sculo XVIII, confrontada com um problema de identidade
social, esforou-se por conferir legitimidade ao seu novo projecto cultural tendo assim o discurso
pedaggico que da resultou, estandardizado um novo estilo de vida que transformou o mundo,
reorganizando-o sob as frmulas racionalistas da modernidade. De um modo totalmente oposto,
o estado e os seus agentes revelam-se hoje completamente incapazes de fornecer o sentido
necessrio sendo pois incapazes de suprir o deficit de legitimidade e motivao necessrios
para que as redes simblicas, sobre as quais se fundamenta a integrao da polis racionalmente
organizada, no percam a sua influncia sobre o modo como tanto os indivduos como as organi-
zaes constroem as suas vises do mundo e forjam a sua identidade.
25
Assim, e sucessivamente foram sendo levadas a cabo diversas reformas, expresso administra-
tiva do progresso, cujo intento era restaurar a legitimidade de um determinado sistema, tendo
este processo conduzido a um ciclo ininterrupto de crises-reformas, expresso da decadncia
poltica em que os mitos da sociedade educada se esvaziaram de contedo poltico, no passando
21 Terrn, Eduardo, Educaci n y Moderni dad, Entre l a Utopi a y l a Burocraci a, 1999, Antrphos Edi tori al , Barcel ona, p. 10
22 Idem, p. 227
23 Habermas, J., 1975, Probl emas de Legi ti maci n en el Capi tal i smo Tard o, Amorrortu, Buenos Ai res, ci tado por Terrn,
Eduardo, Educaci n y Moderni dad, Entre l a Utopi a y l a Burocraci a, 1999, Antrophos Edi tori al , Barcel ona, p. 228
24 Terrn, Eduardo, Educaci n y Moderni dad, Entre l a Utopi a y l a Burocraci a, 1999, Antrophos Edi tori al , Barcel ona, p. 228
25 Idem, pp. 228, 229
CI ANTEC
// 153 //
de um mero jogo de retrica legislativa. Deste modo, o autor conclui afirmando que se h trinta anos
houve quem dissesse que a educao estava na vanguarda de um projecto de transformao social,
hoje pode dizer-se que a crise da racionalidade educativa est na vanguarda da sensao profun-
damente generalizada de carncia de sentido e motivao que invade muitos dos mbitos da nossa
vida social, constituindo muito provavelmente um dos principais sintomas da crise de identidade
do projecto da modernidade.
Assim, tudo o que comeou com a busca de uma resposta ao problema colocado por Kant de
como orientar-se na vida, hoje definido por Giddens como um problema de desorientao gene-
ralizada, o que leva Terrn a interrogar-se sobre se isto a ps-modernidade?
26
Para este autor parece evidente que os ideais culturais sobre os quais assentava a modernidade
e muito particularmente o seu ideal educativo j no so capazes de proporcionar sentido no
contexto da condio cultural ps-moderna
.27
Terrn termina afirmando ser necessrio um imenso esforo terico que comece por analisar,
num momento to parco em energias utpicas, as possibilidades, que se afiguram por ora bem
tnues de recriao de um ideal educativo com sentido para o mundo de hoje, com sentido, no
em termos de perspectivas meramente economicistas mas tambm, perspectivado em funo da
qualidade e da solidariedade.
exactamente nesse sentido que, nos propomos fazer uma reflexo sobre o contributo que
podem dar, neste momento parco em energias utpicas, os museus de arte para a formao
do ser humano proporcionando-lhe um desenvolvimento da imaginao, da sensibilidade e de
um esprito crtico. Interroguemo-nos ento sobre as suas possibilidades para formar pessoas
livres capazes de agirem e de promoverem uma verdadeira democracia cognitiva, emprestando
diversidade, enquanto realidade de dimenso sociolgica e poltica, a fonte legitimadora prove-
niente da autonomia do sujeito.
28
E como acrescenta ainda o Prof. Laborinho Lcio, autonomia e
diversidade andam [] de par, sendo por isso possvel encontrar no binmio por ambas formado
[] um caminho para a formulao de objectivos a colocar ao sistema educativo
29
Para
este jurista, importa pois repercutir a autonomia pessoal num quadro de valores democrticos,
inspirado por uma centralidade definida em torno dos direitos humanos e comprometida com o
respeito por eles
30
concluindo que s em solidariedade, na procura do sentido de cada um na
sua relao com o outro, e na convico de que s nesta relao se atinge a expresso maior
da dimenso pessoal e humana, s assim, a autonomia do sujeito, na sua projeco social, se
legitima eticamente.
31
No , talvez, para muitos, claramente compreensvel o papel que os museus de arte podem
desempenhar na formao de um sujeito livre, autnomo, crtico e simultaneamente tolerante e so-
lidrio, o papel que podem desempenhar como espaos de educao: - Como podem num mundo
to complexo como o de hoje contribuir par a construo de uma imagem positiva de si prprio?
26 Idem, p. 229
27 Idem, p. 292
28 Lci o, l varo Labori nho, Educao, Arte e Ci dadani a, Temas & Lemas, Li sboa, 2008, p. 31
29 Idem, p. 32
30 Idem
31 i dem, p.33
CI ANTEC
// 154 //
Que papel, podem desempenhar na criao de sentido, no restabelecimento de uma motivao?
Como podem educar para a cidadania, fomentar a aceitao e o respeito pela diversidade cultural
sem os quais no h solidariedade social? Como podem contribuir para uma educao total do
indivduo?
A razo de ser dos museus so as obras de arte que conservam e mostram. evidente que esta
afirmao nos poderia levar a amplas consideraes sobre aquilo que foi ao longo dos tempos
considerado obra de arte, sobre aquilo que hoje visto como tal. Deixaremos aqui, deliberada-
mente de lado tais consideraes e iremos apenas v-la enquanto objecto material, fsico, singular
e nico. Assim, como afirma Jean Clair : la raison dtre dune collection, cest la collecte de
lunicum. Res unica solaque. Une oeuvre dart nest pas un produit , parce quelle ne peut pr-
cisment pas, linverse des objets de lindustrie, tre re-produite .
32
Uma obra de arte obriga-nos a ver. Ver no nem um processo simples, nem passivo. No
somos, em geral treinados para ver verdadeiramente. A maior parte das vezes olhamos mas no
vemos. Aprender a ver requer uma ateno muito especial que, poucas vezes usamos no dia a
dia. Essa ateno especial no inata, tem de ser adquirida, treinada.
Ver um acto de ateno inerente a todos os seres humanos. Ver pensar, reflectir, tentar tor-
nar o mundo mais legvel, menos confuso, mais compreensvel. Escrever, pensar, inventar, tudo isso
ver. Governar, trabalhar, trocar, tambm isso ver e dar-se a ver. Cest sur le monde extrieur que
jouvre les yeux, mais cest ma vision intrieure qui permet au visible de se manifester eux .
33
Os Museus so lugares de ver por excelncia. a que a obra de arte sai da sombra, da sombra
do poder e do ritual, a que acede a uma plena visibilidade, pois a que, tendo perdido o seu
valor como objecto de culto, e como tal exclusiva dos deuses e dos poderosos, acede ao espao
pblico, ou seja, torna-se acessvel ao olhar de todos.
34
Se, como referimos, a obra de arte nica e singular, como pode ser formadora? De que forma
pode a arte relanar de um modo no dogmtico, o processo educativo? Contribuir para recriar
um ideal educativo que, como j se disse, se pretende por um lado criador de auto-estima e,
por outro, integrador na sociedade? Como pode contribuir simultaneamente para uma educao
centrada nas necessidades individuais e, ir ao encontro dos desafios e exigncias das socieda-
des democrticas? Como pode conduzir formao de um cidado exigente e crtico, sensvel e
tolerante, conhecedor de si prprio e aberto aos outros?
So certamente estas algumas das questes fundamentais que, no nosso mundo globalizado
e hiperespecializado, se colocam a todos aqueles que verdadeiramente se preocupam com a
educao nos dias de hoje.
Edgar Morin, ao reflectir sobre a reforma do ensino afirma que esta deve levar reforma do pen-
samento, e nesse sentido que acusa precisamente a hiperespecializao de impedir de ver o
global e o essencial. Para este autor, os problemas essenciais no so nunca parcelares e os
32 Cl ai r, Jean, Mal ai se dans l es Muses, Caf Vol tai re, Fl ammari on, Mayenne, 2008, p. 57
33 Cayol , Chri sti ne, Voi r est un Art Di x Tabl eaux pour s i nspi rer et i nnover, Vi l l age Mondi al , Pearson Educati on France,
Pari s, 2004, p.175
34 Benj ami n, Wal ter, L Oeuvre d Art l re de sa Reproducti bi l i t Techni que, 1936 em Oeuvres 2, Posi e et Rvol uti on,
Denel , pari s, 1971 ci tado por Kerl an, Al ai n, L Art pour duquer ? La tentati on Esthti que Contri buti on Phi l osophi que
l tude d Un Pardi gme, Les Presses de l Uni versi t Laval , Qubec, Canad, 2004, p.187
CI ANTEC
// 155 //
problemas globais so cada vez mais essenciais.
35
Segundo ele, todo o nosso sistema de ensino nos
leva a isolar os objectos, a separar as disciplinas mais do que a ligar e integrar, leva-nos a reduzir
o complexo ao simples, a separar o que est ligado, a decompor e no a recompor.
36
Acrescenta
ainda que o conhecimento pertinente aquele que capaz de situar toda a informao no seu
contexto e que o conhecimento progride no pela sofisticao, formalizao e abstraco mas
pela capacidade de contextualizar e globalizar.
37
Parecem assim concretizadas as previses de
Nietzsche, em Basileia (1872) numa conferncia que colocou sob o signo daquilo a que chamou
Kulturherbstgefhl em que antevia aquilo a que assistimos hoje: uma educao dominada pelas
ideias da rentabilidade e eficcia e da qual as velhas humanidades estariam ausentes.
38
Ser ento atravs da obra arte e da cultura humanista, que uma cultura genrica, que podemos
estimular o pensamento sobre as grandes questes da humanidade e promover a integrao dos
conhecimentos? Eisner diz que el valor principal de las artes en la educacin reside en que, al pro-
porcionar un conocimiento del mundo, hace una aportacin nica a la experiencia indivdual.
39
A obra de arte obriga a ver, a reflectir, a sentir, suscita curiosidade, confronta-nos com o mais profun-
do de ns prprios, obriga-nos a olhar para o mundo com as suas grandezas e limitaes, ajuda-nos
a contextualizar e a compreender, fala-nos constantemente de esforo, de desafio e de liberdade,
d-nos constantes lies de grandeza e de tolerncia. Resta-nos pois, aprender a v-la.
Um museu o local que permite uma pluralidade de olhares sobre pocas, culturas, maneiras
de pensar, de sentir, de estar no mundo; local de reflexo, uma espcie de laboratrio ou de
espao de ensaio que nos pode levar a ver l fora, nos ajuda a reflectir, sentir e agir de um modo
cada vez mais livre e responsvel. Um museu um complexo espao de encontros, onde nos
confrontamos com antepassados e contemporneos, com o idntico e o diverso; um espao de
silncio e de comunicao (por vezes silenciosa); um espao de introspeco e de descoberta
onde atravs dos silncios/conversas, nos podemos descobrir a ns e aos outros numa atitude de
respeito mtuo. Um espao de confronto entre o passado e o presente, o individual e o colectivo,
um espao que pode sensibilizar para as necessidades de um presente e de um futuro diferentes,
um espao que, a todos provoca emoes e cultiver lemotion cest cultiver lintelligence.
40
REFERNCIAS
Cayol, Christine, Voir est un Art Dix Tableaux pour sinspirer et innover, Village Mondial, Pearson Education
France, Paris, 2004
Clair, Jean, Malaise dans les Muses, Caf Voltaire, Flammarion,Mayenne, 2008
Eisner, Elliot, Educating Artistic Vision, Macmillan Publishing Co.,1972, trad. esp, Paids, Barcelona, 2000
Eisner, Elliot, The Arts and the Creation of Mind, Yale University Press, New Haven and London, 2002, trad.
esp., Paids, Barcelona, 2004
Lcio, lvaro Laborinho, Educao, Arte e Cidadania, Temas & Lemas, Lisboa, 2008
Kerlan, Alain, LArt pour duquer ? La tentation Esthtique Contribution Philosophique ltude dUn Pardig-
me, Les Presses de lUniversit Laval, Qubec, Canad, 2004
35 Mori n, Edgar, Repensar a Reforma, Reformar o Pensamento, A Cabea Bem Fei ta, Trad. Port., Insti tuto Pi aget, Li sboa,
2002,p. 13
36 Idem, p.13
37 Idem, pp. 15, 16
38 Cl ai r, Jean, op.ci t., p.128
39 Ei sner, El l i ot, Educati ng Arti sti c Vi si on, Macmi l l an Publ i shi ng Co.,1972, trad. esp., Pai ds, Barcel ona, 2000.
40 www.crdp-starsbourg.fr/cddp68/experi ence/pl an/htm
CI ANTEC
// 156 //
Morin, Edgar, Repensar a Reforma, Reformar o Pensamento, A Cabea Bem Feita, trad. port., Instituto Piaget,
Lisboa, 2002
Terrn, Eduardo, Educacin y Modernidad, Entre la Utopia y la Burocracia, Antrphos Editorial, Barcelona,
1999
www.crdp-starsbourg.fr/cddp68/experience/plan/htm
PROCESSOS DE ALEGORIZAO DA IMAGEM DO
CENTENRIO DA IMIGRAO JAPONESA EM UM DESFILE DE
ESCOLA DE SAMBA.
MAURCIO SILVA, REGINA WILKE, ALEXANDRE HUADY -
Este artigo tem por objetivo discutir o processo de construo de imagens no carnaval, no caso
em um desfile de escola de samba cujo enredo foi o centenrio da imigrao japonesa no Brasil.
Assim, analisado como uma escola de samba, a Unidos de Vila Maria, dialoga com diversas
imagens relacionadas cultura japonesa, que tem circulado vastamente na mdia, neste ano de
2008. Estas imagens que idealizaram o Japo existem desde que as primeiras fotografias feitas
sobre a terra do sol nascente, por Felice Beato, comearam a circular no mundo. Neste ponto
discutido o processo de apropriao e alegorizao da imagem e seus desdobramentos no
tempo.
PALAVRAS CHAVE// carnaval, imagem, alegoria, Japo, comunicao
Processes of creation of allegories about image of the centenary of Japanese immigration in a
parade of samba school.
This article aims to discuss the process of building images in the carnival, in the case in a parade
of samba school whose theme was the centenary of Japanese immigration in Brazil. It is therefore
considered how a samba school, Unidos de Vila Maria, dialogues with various images related to
Japanese culture, which has been circulated widely in the media, in this year 2008. These images
that are idealized in Japan since the first photographs made on the land of sun source by Felice
Beato, began to circulate in the world. At this point is discussed the process of creation of allego-
ries about image and its process in time.
KEY WORDS // carnival, image, allegory, Japan, communication
INTRODUO
O desfile das escolas de samba um rito dentro do sentido de que o espetculo sempre o
mesmo. Sempre o novo. Sebe (1986:78). A importncia dos ritos, no sentido argumentado por
Turner (1974), deve-se ao fato de que tanto individual, quanto coletivamente uma parte importante
do processo de significao do cotidiano construdo pela sociedade se elabora a partir de estruturas
CI ANTEC
// 157 //
rituais. Nesta lgica, h imagens de papis sociais dentro do desfile criadas e recriadas a partir de
imagens do cotidiano que dizem respeito aos processos de sentido na sociedade:
No rito carnavalesco, os papis e posies sociais vividos no cotidiano pe-
los componentes dos desfiles de carnaval e participantes de uma escola de
samba alteram-se completamente. Assim, qualquer um(a) pode se trans-
formar em navegador portugus, nobre francs do sculo XVIII; imigrante
japons...Tudo possvel de acordo com a narrativa de um enredo que o
fio condutor da montagem e da produo artstica dos desfiles de carnaval
que se materializa nas fantasias e adereos usados pelos folies nas alas
de evoluo; Blass (2005:225)
Neste sentido, a questo de relacionar-se com o outro exerce destaque. Tornar-se imigrante ja-
pons, por exemplo, ganha status de entretenimento efmero que diz respeito a metafricamente
tornar-se o outro. O investimento simblico desta imitao de um imigrante japons passa pelo
sentido de que h uma alegorizao das imagens do cotidiano que faz parte dos processos de
comunicao contemporneos: a excessiva circulao de imagens que acaba por criar ou refor-
ar padres imagticos, clichs, de um dado tema.
No ano de centenrio da imigrao japonesa no Brasil, 2008, inmeras imagens sobre a terra
do sol nascente esto sendo veiculadas. Comemoraes de carter espetacular tm circulado
vastamente pela mdia em um processo de devorao das imagens idealizadas do Japo que
foram construdas ao longo da histria em diversos espaos e tempos. Mas, se no Japo imagem
tudo, fora do Japo, imagens construdas a seu respeito no conseguem representar toda sua
complexidade. A questo to cara de como entender, ou representar este entendimento do que
seja o Outro, uma pessoa, um quadro ou um pas, aparece, assim, para o Brasil neste ano, no
caso das comemoraes em torno do Japo.
Nesta lgica, como da natureza dos meios de comunicao dar visibilidade excessiva a de-
terminados fatos tornando, ao mesmo tempo, invisveis outros (Baitello, 2005), pela vinculao
de imagens 2008 tem sido em certa medida, um ano japons, pois so muitas as imagens que
circulam relacionadas ao tema. Sendo assim, h muitas imagens sobre o Japo. Ou seria uma
nica imagem padronizada?
Neste sentido, surgem algumas questes, que no necessariamente tem
uma resposta: Como alimentar-se das imagens do outro sem negar suas
outras realidades? Como criar uma imagem que no seja um padro Como
criar uma imagem de algo sem prender este algo? Como imaginar o Japo
sem idealiz-lo? A esta questo se referiu Roland Barthes:
Se eu quiser imaginar um povo fictcio, posso dar-lhe um nome inventado,
trat-lo declarativamente como um objeto romanesco, fundar uma nova Ga-
rabagne (Obra do poeta Henri Garabagne que fala de pases imaginrios),
de modo a no comprometer nenhum pas real em minha fantasia (mas en-
to essa mesma fantasia que comprometo nos signo da literatura). Posso
tambm, sem pretender nada representar, ou analisar realidade alguma
(so estes os maiores gestos do discurso ocidental), levantar em alguma
parte do mundo (naquele lugar) um certo nmero de traos (palavra grfica
CI ANTEC
// 158 //
e lingstica), e com esses traos formar deliberadamente um sistema.
esse sistema que chamarei de Japo Barthes (2007:7)
IMAGINAR UM JAPO J IMAGINADO.
Grande parte das imagens construdas sobre o Japo sugere certo exotismo, em um gesto que
leva ao processo de Japonizao do Japo. O Japonismo seria o processo de elaborao das
imagens que so construdas por este olhar extico. O japonismo estaria para o orientalismo de
Edward Said (2007), quando este discute que o Oriente uma inveno do ocidente.
A partir do sculo 19, a imagem do Japo, fora do Japo, vem sendo construda. Segundo Greiner
(2008)
Os primeiros relatos de Julio Verne descreviam os japoneses como cruis
antpodas, tendo como referncia o bairro dos prisioneiros decapitados em
Nagasaki. Em pouco tempo, surgiria um novo Japo, romntico e delica-
do, reinventado pelo fotgrafo Felice Beato (figura 1), com gueixas seus
quimonos sofisticados e rituais exticos. Um sculo mais tarde, outra mu-
dana radical. De viles da II Grande Guerra super potncia no campo
da cincia e da tecnologia, a nao se reinventou e passou a testar novos
exerccios de poder.41
FIGURA 1: IMAGEM DE FELICE BEATO. FONTE: HTTP://
COMMONS.WIKIMEDIA.ORG/WIKI/IMAGE:FELICE_BEATO_
SHAMISEN.JPG. ACESSO EM 27-07-08.
No Brasil, nestes tempos comemorativos imitar
o Japo tem sido um signo bastante presen-
te. Mas, imitar o Outro um signo complexo e
de vasto espectro, pois pode ir da reverncia
formal pardia carnavalesca. Este processo
de imitar, em si mesmo, j um signo ambi-
valente, semelhana e diferena que tenta dar
poder a quem imita: A mmica , assim, o signo
de uma articulao dupla, uma estratgia complexa de reforma, regulao e disciplina que se
apropria do Outro ao visualizar o poder. Bhabha (2007:132). Imitar o Outro uma forma de
alimentar-se dele. Poder devor-lo. Mas, esta aproximao, pela imagem que se faz do Outro,
deixa distante muitas outras coisas.
Imitao e carnaval so, por sua vez, parentes muito prximos. Damatta (1997) sugere que o car-
naval promove uma inverso do cotidiano pela imitao alegrica do mesmo. Alegorizar a imagem
do Outro um processo dentro dos processos de imitao. Imitar de forma hiperblica um perso-
nagem ou fato do cotidiano prprio dos processos de carnavalizao. Carnavalizar, no sentido
de quebrar a seriedade:
41 Anotaes do curso Ki tsch, trash e neo-pop. A i ndustri a do entreteni mento repensa a comuni cao atravs das i magens
mutantes do corpo. COS-PUC-SP.
CI ANTEC
// 159 //
Ao esforo centrpeto dos discursos de autoridade ope-se o riso, que leva
a uma aguda percepo da existncia discursiva centrfuga. Ele dessacra-
liza e relativiza o discurso do poder, mostrando-o como um entre muitos
e,assim, demole o unilinguismo fechado e impermevel dos discursos que
erigem como valores a seriedade e a imutabilidade, os discursos oficiais,
da ordem e da hierarquia Fiorin ( 2006:89)
Um exemplo deste processo de carnavalizar o outro aconteceu com a escola de samba paulista-
na Unidos de Vila Maria. O Japo foi o enredo escolhido no ano de 2008. No mbito do centenrio
da imigrao japonesa e dentro da lgica dos processos de carnavalizao a escola de samba
homenageou o Japo. A escolha do tema Japo como enredo seguiu critrios lgicos do espe-
tculo. Como hoje, as escolas de samba dependem de ateno miditica para sua sobrevivncia,
escolher um tema desta envergadura poltico-cultural pode render muitos olhares.
Desta forma, dentro dos processos de carnavalizao, as alegorias surgidas atravs das ima-
gens produzidas pela escola de samba refletiram a viso sobre as imagens que j haviam sido
criadas sobre o Japo. Todos os esteretipos estavam presentes: Gueixas, camponeses, samu-
rais, robs, etc., faziam parte do repertrio imagtico. Parecia ser uma necessidade bsica criar
uma tipologia do Japo que no provocasse estranhamentos platia. Era preciso trazer aquele
que, de uma forma ou outra j fosse conhecido, sob o risco de ser acusado de no se estar tra-
tando de um Japo verdadeiro. Como reflete Roland Barthes sobre a imagem que o cinema no
ocidente costuma criar sobre o corpo japons:
... depois de ter unificado a raa japonesa sob um nico tipo, transporta
abusivamente esse tipo imagem cultural que tem do japons, tal como a
construiu a partir de, nem mesmo dos filmes, porque esses filmes s lhe
apresentaram seres anacrnicos, camponeses ou samurais, que perten-
cem menos ao Japo do que ao objeto. filme japons, mas de algumas
fotografias da imprensa, de alguns flashs de atualidade; e esse japons
arquetpico assaz lamentvel: um ser mido, com culos, sem idade,
vestido de modo correto e apagado, modesto empregado de um pas gre-
grio Barthes (2007:129)
Dentro desta idia elabora-se uma breve concluso: percebe-se que o desfile um agregador
que exagera desdobramentos imagticos de um dado tema. Uma concentrao de tudo que
deixa bastante coisa do lado de fora. Agregar alguma coisa como processo que paradoxalmente
tambm segrega outras coisas:
Agregar e segregar constituem, portanto as duas mos de direo de uma
operao construtiva que se funda em processos de emisso e captao
de sinais, em trocas informacionais que vinculam ou desvinculam. E vincu-
lar aqui significa ter ou criar um elo simblico ou material, constituir um
espao (ou um territrio) comum, a base primeira para a comunicao.
Baitello (1997:89)
Neste processo de juntar pela agregao efmera de imagens padroniza-
das e segregao de outras posibilidades imagticas de entendimento do
outro, o desfile como um todo se mostrou como um processo de agrupar
CI ANTEC
// 160 //
as imagens sobre o Japo: Pode parecer contraditrio, mas um rebanho
ou cardume, ou um agrupamento social, portanto uma sociedade se consti-
tui no apenas agregando, mas tambm segregando Baitello (1997:89).
Percebe-se, que no caso de imitar o Japo neste desfile fez-se jus ao exagero caracterstico da
festa. Dentro da avenida, a cena do desfile mostrava um exagero de imagens e clichs sobre o
Japo (figura 2).
FIGURA 2- ALEGORIAS DA VILA MARIA. AUTOR: ALEXANDRE
HUADY
Outra breve concluso acerca deste proces-
so diz respeito percepo de que o des-
file analisado, portanto, no se configurou
como uma inverso propriamente dita das
imagens acerca do Japo pelo ajuntamento
carnavalizado de suas imagens padroniza-
das em um ano que j tem por si mesmo,
concentrado estas imagens.
CONSIDERAES FINAIS.
Sem ter a inteno de concentrar todas as reflexes possveis sobre o assunto, argumentou-se que a
imagem no carnaval simboliza o exagero das imagens do cotidiano. Percebeu-se, ainda, que as inver-
ses que o ritual carnavalesco prope, aproximam o evento do cotidiano. A idia de que o carnaval
um tempo e espao isolado no faz sentido, visto que as imagens cotidianas alimentam as temticas
das escolas de samba e seus processos de alegorizao. Em alguns exemplos, no h inverses
das imagens cotidianas, mas sim, nfase a padres imagticos j estabelecidos. Percebeu-se ainda
que exagerar a padronizao de algumas imagens deixa de fora outras possibilidades de sentidos
para estas mesmas imagens. Buscar estas outras possibilidades de representao, ainda um cami-
nho que continua a ser percorrido pela linguagem das escolas de samba.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS.
BAITELLO. Norval. O animal que parou os relgios. Ed. Annablume. So Paulo. 1997
_______________. A era da Iconofagia. Ed. Hacker. So Paulo. 2005
BLASS, Leila. Desfile e tribos urbanas: a diversidade no efmero in Tribos Urbanas: produo artstica e
identidades org. Jos Machado Pais e Leila Maria da Silva Blass. Ed. Annablume. So Paulo. 2005
BARTHES, Roland. O imprio dos signos. Ed. Martins Fontes. So Paulo. 2007
BHABHA. Homi K. O local da cultura. Ed. Ufmg. Belo Horizonte. 2007
DAMATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heris. Ed. Rocco. Rio de Janeiro. 1997
FIORIN, Jos Luiz. Introduo ao pensamento de Bakthin. Ed. tica. So Paulo. 2006
GREINER, Christine. Kitsch, trash e neo-pop. A industria do entretenimento repensa as imagens do corpo
mutante. COS-PUC-SP
SAID, Edward. Orientalismo. O oriente como inveno do ocidente. Companhia das Letras. So Paulo. 2007
SEBE, Jos Carlos. Carnaval, Carnavais. Ed. tica. So Paulo. 1986
TURNER, Victor. O Processo ritual. Ed. Vozes. Petrpolis. 1974
CI ANTEC
// 161 //
O MOVIMENTO DO PENSAMENTO NAS TRAMAS DO DIAGRAMA
MYRNA NASCIMENTO -
RESUMO // A produo de imagens necessria para a elaborao de produtos comunicacionais usa-
dos em diversas mdias tem origem em complexos mecanismos de concepo e experimentao,
que envolvem tentativas de visualizao da idia e inteno, atravs do desenho.
Esta pesquisa estuda imagens produzidas para mdias que utilizam representaes visuais em
seus produtos, em situaes estticas, como a mdia impressa (publicidade impressa e ambiental),
ou mesmo mdias em que a imagem em movimento tem como suporte a fotografia, ilustrao ou
desenho animado, como vdeo e cinema, por exemplo.
O signo visual considerado nesta pesquisa como elemento capaz de gerar um fluxo comunicativo polis-
sensvel, perceptvel para os demais sentidos a partir de uma operao liderada pelo estmulo visual.
atravs destes diagramas que o pensamento traduz concepes de estruturas, princpios e critrios para
proceder organizao do espao, ou seja, a forma como os produtos da criao sero visualizados.
A noo de diagrama, segundo Charles Sanders Peirce (1978: 1.365), constitui-se na possibilida-
de de estudar processos de produo de representaes visuais no s enquanto manifestaes
do pensamento, mas enquanto atos de uma ao voltada elaborao de idias, de inferncias,
questionamentos, especulaes.
Para este autor os signos icnicos tm como caracterstica o fato de terem qualidades semelhan-
tes s do objeto. Possveis de serem submetidos a um critrio que os associa s experincias
de primeiridade, experincias decorrentes de um tipo de categoria que privilegia a sensao e
a qualidade do que percebido, os diagramas so hipocones que, como sabido, so signos
cuja semelhana evidenciada nas possveis relaes que podem ser estabelecidas entre suas
partes, entendendo ento semelhana como uma identidade de caracteres.
Entendido enquanto meio que desenvolve, explora e experimenta mentalmente as imagens de
origem grficas e/ou fotogrficas, aplicadas em produtos da Comunicao Visual, o desenho,
mais do que ferramenta, configura-se como um modo, ou forma de pensar, um dilogo entre seu
prprio autor e as tentativas de visualizar suas idias.
Desenhar ento sinnimo de arquitetar, articular, tramar, urdir, construir, traar caminhos, pla-
nejar, estruturar, organizar, refletir. Refere-se, portanto, ao de representar idias, de test-las,
projet-las e experiment-las, antes de serem configuradas em qualquer soluo visual que as
conforme em padres passveis de reconhecimento e traduo tcnica e codificada.
Esta pesquisa traz exemplos que incluem produo grfica ou cinematogrfica, e desta forma
apresenta estratgias de abordagem e anlise do material selecionado, a partir da observao e
interpretao dos desenhos e dos produtos que geram.
A reflexo sobre o desenho dentro desta pesquisa envolve uma compreenso conceitual de di-
menses mais abrangentes que, em ltima instncia, discute a importncia do desenho entendido
enquanto diagrama para a formao de arquitetos e designers. Acredita-se que as tentativas de
CI ANTEC
// 162 //
representao do diagrama devem ser caracterizadas pelo uso de todo tipo material e tcnica,
indiscriminadamente, fazendo da necessidade de manifestar a idia o fio condutor do processo
experimental e da linguagem que estes profissionais iro adotar em suas criaes.
PALAVRAS CHAVE // desenho, diagrama, representao, comunicao, semitica.
ABSTRACT // The necessary production of images for communicational products which are applied in
different media has its origin in complex conceptual and experimental mechanisms, which include
tries to visualize the main Idea or intention by the design.
This research studies images that are produced for media that use visual representation in their
products, either in still applications as the press media or even in media in which the image in mo-
vement has photograph, illustration or animation, like video and cinema, for instance, as support.
The visual sign is considered in this research as an element able to generate a communicative and
polissensible flux, perceived by the other senses from an operation leaded by the visual stimulus.
Through these diagrams the thought makes up structural conceptions, principles and criteria to
organize the space, or better, elaborates the way the products they create will be visualized.
The diagram concept, proposed by Charles Sanders Peirce (1978: 1.365), is the possibility of
studying visual representational processes not only as a mind exposure, but as acts of an attitude
aiming to generate ideas, inferences, questions, suppositions.
For this theorist the iconic signs have as a feature similar quality to the ones the object has.
Having the possibility to being submitted to a criterion that associates them to the firstness expe-
riences, which are resulted from the sensation and quality of what is perceived, the diagrams are
hipocons, which means that they are signs whose similarity is shown in the possible relations that
could be found among its parts, understanding similarity as an identity of characters.
Considered as mean that mentally develops, explores and experiment the graphic or photographic
images applied to the Visual Communication products, the drawing, more than a tool, is configured
as a way of thinking, a dialogue between its own author and his tries to visualize his ideas.
Drawing is so a synonymous of designing, articulating, plotting, concocting, building, planning,
structuring, organizing, thinking. It refers to ideas representation action, testing and designing
them, before giving them any patterned visual shape by which they are recognized
This research brings examples that include graphic and cinematographic productions, and shows
strategies for analyzing and selecting the material, from the observation and interpretation of the
drawings and the final products they generate.
The reflection upon the drawing in this research involves a conceptual comprehension of wider
dimensions that, at last, discusses the importance of the drawing understood as diagram for desig-
ners and architects education. We believe that the tries to represent the diagram should be stimula-
ted and should use all kinds of material and techniques, making the need to show and visualize the
idea the main resource of the experimental process and of the language these professionals would
adopt in their creations.
CI ANTEC
// 163 //
KEY-WORDS // design, diagram, representation, communication, semiotics
O olho sincrnico enxerga a roscea das convergncias (Haroldo de
Campos)
A produo de imagens necessria para a elaborao de produtos comunicacionais usados em
diversas mdias tem origem em complexos mecanismos de concepo e experimentao, que
envolvem tentativas de visualizao da idia e inteno, atravs do desenho.
Neste sentido, o signo visual considerado como elemento capaz de gerar um fluxo comunica-
tivo polissensvel, perceptvel para os demais sentidos a partir de uma operao liderada pelo
estmulo visual.
Portanto, estudamos imagens produzidas para mdias que utilizam representaes visuais em
seus produtos, em situaes estticas, como a mdia impressa (publicidade impressa e ambien-
tal), ou mesmo mdias em que a imagem em movimento tem como suporte a fotografia, a ilustra-
o ou o desenho, como vdeo e cinema, por exemplo.
As imagens em questo constituem signos icnicos quem, com freqncia, se apresentam na
forma de um desenho ou esquema relacional particular, s vezes enigmtico ou aparentemente
indecifrvel. atravs destes diagramas que o pensamento traduz concepes de estruturas,
princpios e critrios para proceder organizao do espao, ou seja, a forma como os produtos
da criao sero visualizados.
A noo de diagrama, segundo Charles Sanders Peirce (1978: 1.365), constitui-se na possibilida-
de de estudar processos de produo de representaes visuais no s enquanto manifestaes
do pensamento, mas enquanto atos de uma ao voltada elaborao de idias, de inferncias,
questionamentos, especulaes. Deste raciocino decorre a compreenso do diagrama como um
cone de relaes inteligveis, como um cone das formas de relaes na constituio de seu
objeto, mesmo podendo apresentar traos simbolides, ou mesmo traos de natureza prxima
a dos ndices. (PEIRCE apud CAMPOS, 1994:81).
Para este autor os signos icnicos tm como caracterstica o fato de terem qualidades semelhan-
tes s do objeto. Possveis de serem submetidos a um critrio que os associa s experincias
de primeiridade, experincias decorrentes de um tipo de categoria que privilegia a sensao e
a qualidade do que percebido, os diagramas so hipocones que, como sabido, so signos
cuja semelhana evidenciada nas possveis relaes que podem ser estabelecidas entre suas
partes, entendendo ento semelhana como uma identidade de caracteres.
Entendido enquanto meio que desenvolve, explora e experimenta mentalmente as imagens de
origem grficas e/ou fotogrficas, aplicadas em produtos da Comunicao Visual, o desenho, mais
do que ferramenta, configura-se como um modo, ou forma de pensar, um dilogo entre seu prprio
autor e as tentativas de visualizar suas idias.
Para este evento selecionamos exemplos que incluem produo grfica produzida com o intuito de
criar produto cinematogrfico, apresentando estratgias de abordagem e anlise do material sele-
CI ANTEC
// 164 //
cionado, a partir da observao e interpretao dos desenhos e dos produtos que geram.
Identificando-se com a prpria sistemtica relacional desencadeada a partir da aproximao do
diagrama ao produto final do processo criativo, o percurso interpretativo tambm se revela uma
possibilidade de trnsito pela lgica da correlao, valendo-nos do termo adotado por Campos,
e de sua associao analgica, ou lgica da analogia, de Valery.
A configurao das relaes em oposio ao realismo ortodoxo
42
, destacada por Campos de
acordo com os postulados de Fenollosa, defendidos por seu discpulo Dow (1994: 36), ento
estabelecida dentro da prpria natureza da ao interpretativa e, portanto, enfrenta os mesmos
obstculos presentes na trama da estrutura diagramtica, para ser compreendida numa dinmica
operacional que supere processos perceptivos habituais, e passivos.
Outro aspecto que se faz relevante nos estudos aqui apresentados refere-se compreenso da no-
o de espao dentro dos limites do suporte em que se processa a representao diagramtica.
Segundo Hall (2005) a experincia perceptiva est intimamente vinculada a um conjunto de fil-
tros sensoriais que efetuam uma triagem seletiva dos dados percebidos a partir de parmetros
culturais. Dessa forma a operao perceptiva constitui-se em ponto de referncia provisrio e
relativizado pela linguagem, capaz de transformar este fenmeno no tempo e no espao.
Se admitirmos o suporte em que se apresenta o diagrama como um espao de ocorrncia do
evento comunicacional, ainda que nos casos aqui apresentados os exemplos sejam de natureza
visual, faz-se necessrio tambm compreender estes signos dentro de uma experincia multi-
sensorial, na qual relaes de proximidade, distanciamento, freqncia, intensidade e ritmo, por
exemplo, podem ser percebidos alm da manifestao visvel.
43
Conforme nos alerta Hall (2005:88-89), a condio estereoscpica da viso nos revela seu car-
ter ilusrio, pois ainda que assim se apresente, ela no nem fixa, nem estacionria. Isto certa-
mente corrobora para a afirmao do autor a respeito de ser a noo de profundidade uma das
dimenses da experincia visual, e no uma construo elaborada a partir de sensaes.
Apresentamos a seguir 3 estudos de desenhos de cineastas, reprodues obtidas em uma edi-
o comemorativa do Ano Internacional do Cinema, 1995, publicada como agenda e organizada
por Stephen Frears, para a editora Autrement.
DESENHOS DE AKIRA KUROSAWA (1910-) PARA A SEQNCIA DE CORVOS EM SONHOS (1990).
Os desenhos analisados, na verdade, apresentam-se na forma de seqncia, pelo que nos sina-
liza a numerao no canto superior esquerdo, ao lado do texto relacionado fala do personagem
42 Segundo Campos (1994:36) , no Congresso Internaci onal para o Desenvol vi mento do Desenho e do Ensi no da Arte,
sedi ado em Londres em 1908, Arthur Dow, confrontou o mtodo acadmi co ( anal ti co) com o estrutural (si ntti co),
observando que no mtodo tradi ci onal o al uno perde sua expresso pessoal em detri mento da profi ci nci a na represen-
tao, conforme a tradi o renascenti sta, enquanto que a ori entao estrutural , uti l i zada pel os ori entai s e anteri or ao
Renasci mento na cul tura oci dental , enfati za a expresso pessoal , recusa a i mi tao de model os exteri ores, e permi te que
a ao da mente humana na confi gurao de harmoni as se torne efeti vamente o fundamento do estudo.
43 Reconhecendo abordagem hi stri ca, o moderno escri tor francs Georges Mator, em L Espace Humai n, anal i sa me-
tforas em textos l i terri os como um mei o de chegar a um concei to de que el a chama de geometri a i nconsci ente do espao
humano . Sua anl i se i ndi ca uma acentuada mudana das i magens espaci ai s do Renasci mento, que eram geomtri cas e
i ntel ectuai s, para uma nfase sensao de espao. Hoj e a i di a de espao emprega mai s movi mento e ul trapassa o
vi sual para ati ngi r um espao sensual mui to mai s profundo (HALL, 2005: 118)
CI ANTEC
// 165 //
Van Gogh (no filme representado pelo tambm dire-
tor Martin Scorsese).
So desenhos em primeiro plano, destacando duas
tomadas dos personagens em dilogo. Em preto e
branco, os esboos apenas delineiam os corpos dos
personagens, evidenciando seu volume e movimen-
to.
Nestes desenhos todo o foco das atenes est diri-
gido expresso do pintor holands, forma como
se move e segura lpis e bloco de desenhos como
se fizessem parte de sua prpria constituio cor-
prea, denotando afinidade, proximidade, simbiose.
Apenas o rosto de Van Gogh est detalhado e aca-
bado; seu interlocutor, passivo e atento, traduz no
rosto sem definio o anonimato que o caracteriza e
assume neste sonho.
Os desenhos esto soltos e no h no papel nenhum
elemento que os delimite, sendo que se esparramam
de forma imprecisa sobre o suporte e so interrompidos e suspensos como se etreos.
O apoio do texto verbal, nestes dois exemplos inscritos em nico registro simultaneamente, deslo-
ca o tema para aquilo que no est presente, a cena a ser pintada/ ou em momento de pintura.
A fala do mestre extasiado e aflito em captar ao fenmeno natural que transcende sua capacida-
de de acredit-lo como existente, no filme, reflete a inquietao que tambm incomoda o diretor
em seus Sonhos, espelhando metalinguisticamente a tentativa de tornar real aquilo que s
existe na sua imaginao.
No entanto na cena flmica nunca se estabelece a mesma direo e proximidade dos persona-
gens como no desenho; na imagem cinematogrfica sempre o mestre est em plano mais prximo
do espectador
No segundo caso, no h detalhamento da grande massa do cereal que se distribui em direo
ao horizonte discretamente representado pelo cu azul, nuvens esparsas e vegetao contida
margeando as linhas que delimitam a plantao infinita e predominante.
No filme o campo de trigo est representado como espao delimitado, embora a tomada em pers-
pectiva permita que seus limites escapem da rea desenhada, sangrando em direo ao ponto em
que se encontra o receptor, exatamente como garante o desenho do cineasta.
O desenho que corresponde ao deslocamento do personagem em busca do artista permite aludir
passagem do dilogo ilusrio estabelecido entre os personagens para a fantstica imerso dentro
dos quadros nos quais o pintor amador ir literalmente se perder.
O contraste entre a distncia e a proximidade que cada um dos desenhos prope, sugerem a di-
cotomia existente entre continuidade e profundidade X diviso composicionada e mltiplos centros
CI ANTEC
// 166 //
apontadas por Arnheim (1990), em seus estudos em busca de princpios de composio universais,
que possam ser aplicados indiscriminadamente a qualquer tipo de produo cultural humana, inde-
pendentemente de sua origem espacial e temporal.
No segundo desenho, h literalmente um close, tambm assim manifesto na cena flmica a que ele
corresponde, em que o movimento do olhar nos desloca da direita para a esquerda, maneira do
cdigo de leitura oriental. Graas ao ponto de tenso estabelecido pela adoo das cores fortes
das paredes da casa que est atrs do personagem, possvel no s acompanhar o desloca-
mento do corpo do jovem pintor, mas tambm perceber a tatilidade sugerida pelos traos grossos
e irregulares do grafite colorido.
Somente na cena do filme poderemos perceber o volume e sombreamento que a grossa camada
de tmpera deixa marcado na superfcie da parede desta casa.
Ao abrir o plano da imagem do close para aquilo que corresponderia o quadro inteiro de Van
Gogh observamos a relao metonmica estabelecida entre diagrama e cena flmica, bem como
a liberdade de traduo assumida pelas cores, formas e linhas que no correspondem obra
original do pintor, mas com ela estabelecem relaes similares e suficientes para represent-la.
DESENHO DE DESENHOS DE FEDERICO FELLINI (1920-1993)
PARA AMARCORD
Fellini em seu desenho prev To, o insano tio
de Amarcord, com os ps no cho, pronun-
ciando a famosa fala: Quero uma mulher, que
marca uma das cenas mais memorveis do fil-
me. Pelo desenho o personagem est envolto
por galhos que acabam se confundindo com o
corpo magro e esguio do personagem.
No diagrama, no entanto, perceptvel a reverbe-
rao do som e da fala, a idia de que os galhos
podem servir como eixos de expanso e aumen-
to do impacto da mensagem gritada e camufla-
da que ouvida por todos sem compreender de
onde vm.
No filme, a frondosa rvore exerce o papel pre-
visto pelos galhos, mas o personagem sobe nela
(de onde s sair com uma escada), e ela acaba
funcionando como ponto de origem do som, isolada e completamente perceptvel no plano aberto
que revela a paisagem. H uma srie de tomadas do tio na rvore que se assemelham s qualida-
des sinalizadas no diagrama, em que o personagem parece estar em p, apoiado e integrado aos
inmeros galhos do abrigo e esconderijo procurado.
CI ANTEC
// 167 //
DESENHO DE JACQUES TATI (1908- 1982) PARA PLAYTIME
(1968) E ASSINATURA.
O diagrama de Tati um exemplo adequado
para finalizarmos nossas anlises sobre diagra-
mas e cenas flmicas, uma vez que concentra,
em uma espcie de grafismo pouco reconhec-
vel de traos, formas e movimentos, a essncia
do filme playtime, stira sociedade moderna
americana, seus artifcios, automao, compor-
tamentos e vcios de sociedade industrializada.
O diagrama sugere a continuidade e repetncia
de fenmenos mecnicos, a ascendncia e de-
cadncia dos lugares sociais em deslocamentos
contnuos de elementos, personagens e objetos no espao.
A recorrncia forma circular est presente, bem como imagens sobrepostas e vistas simultane-
amente, resultado da ampla utilizao do vidro na arquitetura moderna, das largas janelas e da
ampla exposio a que se v submetido o habitante e usurio desta cidade, em contato perma-
nente com a vida urbana e com seus atrativos.
No h limites que obstruam as conexes entre espaos internos e externos, entre o particular e
o pblico, entre o ntimo e o coletivo. Como se observa no diagrama, todas as partes esto rela-
cionadas, e so dependentes, caracterizando-se apenas por provocarem atravs desta estreita
relao, um moto contnuo e infinito, que a todo o momento se faz visvel e perceptvel no filme.
A compreenso do diagrama como um meio de traduo da idia, desvinculado de parme-
tros pr-estabelecidos, mas capaz de revelar aspectos intrnsecos e estruturais do produto que
se pretende criar, pode ser til para aqueles que buscam meios de visualizar suas criaes e
aperfeio-las no dilogo com estes signos do pensamento. A aplicao tambm pode ocorrer na
medida em que re-conhecemos estes processos na obra de autores renomados, acompanhando
processos de elaborao como forma de aprendizado e cognio.
A reflexo sobre o desenho dentro desta pesquisa envolve uma compreenso conceitual de di-
menses mais abrangentes que, em ltima instncia, discute a importncia do desenho entendido
enquanto diagrama para a formao de comunicadores visuais, arquitetos e designers.
Acredita-se que as tentativas de representao do diagrama devem ser caracterizadas pelo uso
de todo tipo material e tcnica, indiscriminadamente, fazendo da necessidade de manifestar a
idia o fio condutor do processo experimental e da linguagem que estes profissionais iro adotar
em suas criaes.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
Agenda Autrement, 1995. Dessins de Cinastes, prsents par Stephen Frears. Paris: Editions Autrement,
1994
ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna. 4 ed. So Paulo: Companhia das letras, 1996.
CI ANTEC
// 168 //
ARNHEIM, Rudolf. O poder do centro. Rio de Janeiro: Edies 70, 1990
FERRARA, Lucrecia D.(org.) Espaos Comunicantes.So Paulo: Annablume, 2007
HALL, Edward T. A dimenso oculta. Trad. Walda Barcellos. So Paulo: Martins Fontes, 2005.
MITCHELL, W.J.T.(org.) The language of the images. Chicago: University of Chicago Press, 1984
MUNARI, Bruno. Design e Comunicao Visual .4 ed. So Paulo: Martins Fontes, 2001
PEIRCE, C.S. Collected Papers. 4 ed. Cambridge, Massachsetts: Harvard University Press, 1978, 8v.
SOLSO, Robert L.. Cognition and the visual arts. Massachusetts; MIT Press, 1996
VALERY, Paul. Varit III. 48 ed. Paris, Gallimard, 1936
VALERY, Paul. Introduo ao mtodo de Leonardo da Vinci (1894). Trad. Geraldo de Souza. So Paulo: Ed
34, 1998.
O MUSEU COMO ESPAO MEDITICO CONTEMPORANEO
OLVIO GUEDES - DIRETOR CULTURAL DO MUBE
O MUSEU COMO ESPAO (EXPOSITIVO)
O Museu como espao expositivo, vem agregado de valor, e valor conota a diferena. A questo
de valor apresenta um modo no absoluto, sendo, o Museu (cada museu com seu espao expo-
sitivo direcionado) tende a ter um determinado peso em seu contesto social, mas, com a questo
de um planeta unificado (globalizao, mundializao e planetizao) devemos no mais deter a
educao, sim compreender o momento unificante, diante disto, manipular conforme as necessi-
dades atuais; porm: no perder a conscincia adquirida de um passado coerente.
O verbete museu, forjado no sculo XVII, conduz, portanto, um estado embasado por um conhe-
cimento tradicional. Este conhecimento apresenta, e mais, reapresenta um significado de hist-
ria; onde por estes comportamentos sociais ilustram os nossos saberes colocados em objetos.
A conteno e a moderao do conhecimento tradicional acarretam um transitar no mundo da
relatividade que cria uma organizao, considerada um conjunto de pesquisas que podem minis-
trar determinadas conquistas da impreciso humana. Com estas informaes poderemos conclui
que: o fluxo de dados em nossa sociedade tende a ter uma atividade constante, como exemplo: o
universo, onde, sua nica certeza a qualidade de incertezas. Por tanto, torna importante refazer
o peso gramatical da palavra Museu.
Estes objetos, expostos em espaos graduados de autoridade museloga causa uma identidade
que pertence ao cnone estrico/histrico, nas relaes e agregaes mestre/discpulo, sendo
assim: sujeito/objeto. Estes dados prestados de informao passada, qual nos presta servio de
conhecimento e reconhecimento para podermos compreender o ser, a sociedade, o planeta e o
universo, tem que ser apresentado ao mundo da educao com um formato atualizado. O termo
atualizado pode no ser real mediante ao estado de conscincia do ser em seu querer viver, ou
CI ANTEC
// 169 //
seja: o movimento humano sempre esteve em mudanas, somente agora estamos aprendendo, ou
nos conscientizando de que este movimento nunca foi diferente.
Relativa questo: avaliao, portanto, distanciamento, deixa claro que este contexto nunca ser
des-relativisado. Assim como, a verdade e o bem no so materiais (Plato). Compreendendo
com esta nova faculdade, que a ausncia da eficincia do consciente acoplado a emoo, cria
um verdadeiro estado de realidade, sendo: nunca houve o distanciamento da razo e emoo, a
unidade entre afetivo e efetivo.
O MEDITICO CONTEMPORNEO
Meditico como imagem. Esta questo de representaes grficas e principalmente plsticas esta
realizada como objeto no espao muselogo. A origem do meditico cabe na origem pluralista de
Hegel; onde no nica, na origem, mas, pertence ao todo. Compreendendo a interdisciplinari-
dade estamos aumentando a eficincia de nossa expanso de produo na arte de educar. Esta
arte a nica e completa medida da economia da realizao do humano em Ser.
A questo do meditico como evocao do smbolo, recorda e manifesta a questo de cpia.
No contemporneo a interpretao de imagem real (formada por raios luminosos que convergem
depois de atravessarem um sistema ptico) que dialeticamente ir contra a imagem virtual (for-
mada pelos raios luminosos que atravessam um sistema ptico) onde hoje se unifica na imagem
vetorial (computador), nos trar sempre a questo de avaliao e distanciamento onde a questo
de vontade de poder (Nietzsche) agrega a interpretao da analise horizontal versus vertical e
nos mostra a questo da imagtica (meio expressivo).
Quanto a isto no momento contemporneo o vertical, como separao, nos apresenta a inter-
pretao da diferena e repetio. A existncia da imagem inexata encontrasse comparada
ao princpio da incerteza de Heisenberg que se tornou desenvolvida a partir de Max Planck
(mecnica quntica), onde hoje, a sociedade cientfica criou o sistema de tentativa de saber da
origem da formao do universo, criando o maior aparelho do planeta, que servir para perceber
os sistemas de partculas elementares, onde dentro desta inferncia veremos a forma primitiva
e original da vida.
Compreendendo esta atividade poderemos ter o mtodo de produo de conhecimentos, ou me-
lhor, a coordenao harmnica das adaptaes e no convenes das quais nos prendemos.
Com estes recursos teremos um aumento da operao qualificada de nossa existncia.
Munidos de um pensamento transdisciplinar e na interpretao do pensamento complexo e no
desenvolvimento sinestsico a viso de urea e alma se perde e se agrega com os pensamentos
tradicionais e contemporneos. Contando com isto, a interpretao de Lugar.
Regulando esta questo de Lugar, poderemos ter o servio de viglia sobre nos mesmos ao esta-
cionarmos em locais onde, no teremos acesso compreenso de nosso modus vivendi e modus
faciendi. Este pensar de maneira mista nos baseia para um caminhar e viajar em atitude estvel
dentro da instabilidade que ocorre na base do universo.
Neste real supostamente verdadeiro o habitat, que a interpretao do objeto versus coisa no
CI ANTEC
// 170 //
museu como espao meditico contemporneo.
Ao despertar para um novo pensar, teremos os condicionantes histricos, polticos e sociais como
simples aprendizados, onde poderemos ter um livre produzir, com esta no proteo poderemos
realizar o pleno criar, e teremos chegado ao Magnus Opus, que em alquimia europia significa, o
eterno movimento continuo do universo.
No momento atual onde, a unificao do Estado (governo), a Academia (universidade) e a Industria
(comrcio) tem que estar unificados pelas realizaes das buscas dos saberes para um momento
de vida melhor, cabe ento: uma educao realmente eficaz. E este conceito eficaz cabe ao corpo
docente ter a permanncia do saber das mudanas perenes de nossos movimentos para com a
vida feliz. A eterna busca, o desvendar dos mistrios (Einstein).
Caracterizado pela necessidade do princpio de unificao como caracterstica essencial vida,
no nvel mais profundo do orgnico e do inorgnico das sensibilidades individuais e coletivas,
tendo a conscincia que esta outra forma de pensar somente utilizada para uma semntica
explicativa, pois, a realidade mesmo que seja mope, o ser parte do universo, sendo, no ou
esta separado, h no ser, pela indisponibilidade de conscincia, munido deste saber ficar real
sua produtividade perante a vida em sociedade universal.
A veemncia de sentimento nos d uma generosidade de expresso, chegando ao entusiasmo e
animao (anima como alma), para o indivduo existir, o indivduo no se individualiza e torna-se
todo.
Este princpio de unidade, de movimento universal, nos d principalmente a continuidade entre o
pseudo mundo que achamos que vivemos.
Mudando a mente, mudars o mundo, pois, a mente o prprio mundo!
Para isto o Museu como Espao Meditico Contemporneo tem que realizar este pensar/saber.
Criando um novo realizar neste antigo verbete Museu.
IMAGENS DO CORPO AO AVESSO NAS VIDEOINSTALAES.
REGILENE SARZI RIBEIRO - MESTRE EM ARTES IA UNESP/SP. DOCENTE E COORDE-
NADORA DO GRUPO DE ESTUDOS O CORPO NA ARTE CONTEMPORNEA - FAAC UNESP/
BAURU/SP.
RESUMO // Este artigo trata do corpo e das imagens biomdicas nas videoinstalaes de artistas que
ao centrarem suas discusses na representao visual mediada do corpo promovem mudanas
na percepo, no imaginrio e nas formas atuais de visualizao do mesmo. Os objetivos so a
contextualizao e anlise das imagens do corpo e rgos internos explorados pelas videoinstala-
es como elementos plsticos para a construo de um discurso questionador e singular, contra
CI ANTEC
// 171 //
a objetificao do corpo humano, promovendo a humanizao e sensibilizao de tais tecnologias.
Os procedimentos metodolgicos adotados para coleta de dados foram pesquisa documental e
bibliogrfica, visando reviso de teorias e autores que discutem no contemporneo o uso de tais
imagens no campo das artes visuais. Os resultados apontam para o papel determinante de tais
imagens e signos visuais na construo do imaginrio, na percepo e nas formas de visualizao
do corpo exposto continuamente em sua condio biolgica, real e sensvel, diante da constante
espetacularizao visual e idealizao no campo social e econmico. As novas tcnicas de ge-
rao de imagens biomdicas e exames no-invasivos, como videolaparoscopias, coloscopias,
ultra-sons e endoscopias, viram o corpo ao avesso por meio de imagens nunca antes vistas,
alterando significativamente as formas de visualizao do corpo. A exposio do interior do corpo
j havia sido proposta em 1970 por Opemheimer, ao expor grandes fotos de raios-X de seu es-
tmago, com os recursos da poca. Vinte anos depois, na dcada de 1990 as videoinstalaes
se apropriaram de fato deste tipo de imagem, como na obra Corps tranger (1994) da palestina
Mona Hatoum, na srie de videoinstalaes da brasileira Diana Domingues, TRANS-E: o corpo
e as tecnologias (1994) e nas obras Da Vinci Sries II (1997) e Self/Data Body (1998) do ame-
ricano Eric Fong. Em 2000, o projeto Digitized Bodies Virtual Spectacles, da canadense Nina
Cezegledy concebeu uma srie de eventos on-line e on-site visando investigao dos efeitos
perceptuais das tecnologias digitais e imagens biomdicas, sua insero nas artes e na cultura
popular. Tais imagens tratadas esteticamente so elementos essenciais para a configurao de
obras que se apropriam do alto ndice de exposio do corpo real, sensvel, frgil, fragmentrio
e imperfeito, e sua condio biolgica como potica. Artistas e pesquisadores defendem a cria-
o de uma nova espcie humana, hibrida e resultante da total simbiose homem-mquina, cuja
morfologia melhorada, origina o homem ps-orgnico e as artes do corpo biociberntico. Outros
defendem o corpo virtual idealizado pelas tecnologias digitais como o clmax de um processo de
construo do corpo perfeito, que na realidade virtual pode ter qualquer morfologia desejada.
No vis de tais discusses encontram-se proposies artsticas, como as videoinstalaes, que
propem a humanizao e a continuidade da sensibilizao e subjetificao da imagem do corpo
gerada por essa intensa relao do homem com as mquinas. Nesse sentido, as videoinstalaes
possuem um papel singular no discurso questionador contra a objetificao do corpo humano
propondo, por meio de suas poticas, a subjetificao, humanizao e a sensibilizao das novas
tecnologias de imagens do corpo.
PALAVRAS-CHAVE// imagem; corpo; novas tecnologias; videoinstalaes; imagens biomdicas.
IMAGES OF THE BODY THE UPSIDE ON INSTALLATIONS VIDEO.
ABSTRACT// This article deals with the body and images in biomedical installations video of the artists
who focus their discussions on the visual representation of the body mediated promote changes
in perception, in the imagination and the current ways of viewing the same. The objectives are the
background and analysis of images of the body and internal organs operated by installations video
as plastic parts for the construction of a speech questioning and natural, against objectization the
CI ANTEC
// 172 //
human body, promoting awareness and the humanization of such technologies. The adopted me-
thodology procedures for collecting data were the documentary research and literature, seeking to
revise theories and authors argue that in the contemporary use of such images in the field of visual
arts. The results point to the crucial role of such images and visual signs in the construction of the
imagination, in perception and the ways of viewing the body continually exposed in their biological
condition, real and sensitive, given the constant visual and idealization spectacularization the social
and economic . The new generation of imaging techniques for biomedical and non-invasive tests,
as videolaparoscopias, coloscopias, ultrasound and endoscopies, saw the body inside through the
images never before seen, significantly altering the ways of viewing the body. Opemheimer, to ex-
pose large X-ray pictures of your stomach, with the resources of the season, had already proposed
the exposure of the interior of the body in 1970. Twenty years later, in the 1990s the installation
video if appropriating in fact this type of image. As in the work Corps tranger (1994) of Palestinian
Mona Hatoum, the number of installation video the Brazilian Diana Domingues, TRANS-E: the body
and technologies (1994) and works in the Da Vinci Series II (1997) and Self / Body Date (1998)
by American Eric Fong. In 2000, the project Digitized Bodies - Virtual Spectacles, the Canadian
Nina Czegledy devised a series of events online and on-site aimed at investigating the percep-
tual effects of digital technologies and biomedical imaging, its insertion in the arts and popular
culture. These images are treated aesthetically essential elements for the configuration of works
that appropriate the high rate of exposure of the body real, sensitive, fragile, fragmented and
imperfect, and their biological condition as poetic. Artists and researchers advocate the creation
of a new human species, and hybrid resulting from the total man-machine symbiosis, whose mor-
phology improved, leads the man post-organic and the arts body Bio cybernetics. Others argue
the virtual body idealized by digital technologies as the climax of a process of building the perfect
body, which in virtual reality can have any desired morphology. In the bias of such discussions,
are artistic proposals, such as installation video, offering the humanization and continuity of awa-
reness and subjectization the image of the body generated by the intense relationship of man
with the machines. Accordingly, the installation video have a role in natural speech questioning
objectization against the human body and, through their poetic, the subjectization, humanization
and awareness of new technologies of images of the body.
KEYWORDS // image; body; new Technologies; installations video; biomedical images.
Diante de tanto real, no h imaginrio que resista. Suprema ironia, pois
nada pode ser mais ertico do que as cavidades, lbios, sulcos, fendas e
curvas para dentro do corpo. - Lcia Santaella
Quanto mais conhecemos o corpo real, mais ele se torna idealizado. As novas tcnicas de criao
de imagens biomdicas e exames no-invasivos, tais como videolaparoscopias, coloscopias, ultra-
sons e endoscopias viram os corpos ao avesso por meio de imagens jamais vistas, promovendo
mudanas na percepo, no imaginrio e nas formas de visualizao do corpo.
Tais imagens tratadas esteticamente so elementos essenciais para a configurao de obras que se
apropriam do alto ndice de exposio do corpo real, sensvel, frgil, fragmentrio, imperfeito, e sua
CI ANTEC
// 173 //
condio biolgica como potica. Ao mesmo tempo, em que so exploradas como meio para espe-
tacularizao visual do corpo, estmulo busca desenfreada por um corpo perfeito e manuteno de
sua idealizao no campo social e econmico.
O valor absoluto dos procedimentos mdicos atuais pode ser discutvel,
mas est acima de qualquer discusso o fato de que as imagens escanea-
das de ressonncia magntica, espectometria e tomografia computadoriza-
da revelaram nossos corpos em detalhes nunca antes vistos. (CZEGLEDY,
2003, p.129).
Assisti-se na atualidade, tanto na arte quanto no campo social, a manifestao de opinies diver-
gentes acerca do imaginrio do corpo e sua relao com as novas tecnologias. Uns defendem
a criao de uma nova espcie humana, hibrida, resultante da simbiose homem-mquina e uma
morfologia melhorada (STERLAC, 1997). Ao passo que outros defendem o corpo virtual gerado
pelas novas tecnologias, tal qual o computador, como o clmax de um processo de idealizao
do corpo perfeito, pois na realidade virtual o corpo pode ter qualquer morfologia ideal, desejada
(REZENDE, 2005).
No vis de tais discusses encontramos trabalhos artsticos que propem a humanizao e a
continuidade do papel da arte na sensibilizao e subjetificao da imagem do corpo gerada por
essa intensa relao do homem com as mquinas (SANTAELLA, 2003b).
Diante de tal cenrio, este artigo defende as videoinstalaes como detentoras de um papel
singular no discurso questionador contra a objetificao do corpo humano propondo, por meio
de suas poticas, a subjetificao, a humanizao e a sensibilizao das novas tecnologias de
imagens do corpo.
A relao entre a representao do corpo e a exposio da sua condio biolgica esteve sem-
pre presente nas formas tradicionais de visualizao do corpo, tanto no campo artstico quanto no
cientfico, a ponto do corpo ser considerado hoje uma objetividade cientificamente embasada.
No h nada de novo sobre o corpo mediado ou representao mediada.
[...] A natureza da mediao, porm, est mudando sensivelmente. Olhan-
do para a histria da cincia e da arte, encontramos isso em especial desde
o Iluminismo; a viso do corpo humano passou por mudanas significativas
ainda que inconsistentes. (CZEGLEDY, 2003, p.126-127).
As transformaes conceituais desencadeadas durante a virada do sculo XVIII para o XIX, apon-
tam para o avano tecnolgico e para o uso dos novos meios de produo de imagens e de senti-
dos, como um dos motivos do contato cada vez mais intenso do homem com o seu corpo.
Pierre Lvy (1996) relata que o avano das tecnologias de produo de imagens do corpo um
dos motivos pelos quais ocorrem as mudanas de percepo e do imaginrio corporal. Encontram-
se estas e outras afirmaes a despeito da relao do corpo e as tecnologias, no livro O que o
Virtual? (1996). Nele, tambm, o autor denomina de Reviravoltas, as imagens mdicas que permi-
tem a visualizao do corpo internamente.
O que torna o corpo visvel? Sua superfcie; a cabeleira, a pele, o brilho
do olhar. Ora, as imagens mdicas nos permitem ver o interior do corpo,
CI ANTEC
// 174 //
sem atravessar a pele sensvel, sem secionar vasos, sem cortar tecidos,
Dir-se-ia que fazem surgir outras peles, dermes escondidas, superfcies
insuspeitadas, vindo tona do fundo do organismo. Raios-X, scanners,
sistemas de ressonncia magntica nuclear, ecografias, cmeras de psi-
tons virtualizam a superfcie do corpo. [...] todas essas peles, todos esses
corpos virtuais tm efeitos de atualizao muito importantes no diagnstico
mdico e na cirurgia. [...] O organismo revirado como uma luva. O inte-
rior passa ao exterior ao mesmo tempo em que permanece dentro. (LVY,
1996, p.29-30).
Dessa interao com as tecnologias surgem as videoinstalaes que se apropriam das imagens
de diagnsticos mdicos, propondo novas poticas para a representao visual mediada do cor-
po. Os efeitos de tais imagens tm gerado debates no campo da antropologia e da sociologia, e
em trabalhos artsticos que visam uma postura crtica frente objetificao do corpo, a tica e a
identidade corprea na sociedade (CZEGLEDY, 2003).
A relao do homem com o corpo-objeto amplifica-se continuamente e pode atingir o clmax com
o despertar das artes do corpo biociberntico.
[...] por artes do corpo biociberntico quero significar as artes que tomam
como foco e material de criao as transformaes por que o corpo e, com
ele, os equipamentos sensrio-perceptivos, a mente, a conscincia e a sen-
sibilidade do ser humano vm passando como fruto de suas simbioses com
as tecnologias. (SANTAELLA, 2003a, p.65).
A teoria do corpo biociberntico contribui com um elemento que fortalece nossas inquietaes
acerca da representao visual mediada do corpo e das imagens biomdicas como um signo
contemporneo, que se faz presente entre ns por meio das novas tecnologias. Trata-se do
corpo esquadrinhado, [...] perscrutado pelas mquinas de diagnstico mdico (SANTAELLA,
2003b, p.286), usado como imagens poticas no campo das videoinstalaes.
A exposio do interior do corpo j havia sido proposta em 1970 por Opemheimer, ao expor gran-
des fotos de raios-X de seu estmago, com os recursos da poca. Vinte anos depois, na dcada
de 1990, a vez das videoinstalaes se apropriarem de fato deste tipo de imagem, como na
obra CORPS TRANGER (1994) DA PALESTINA MONA HATOUM, na srie
de videoinstalaes da brasileira Diana Domingues, TRANS-E:
o corpo e as tecnologias (1994) e nas obras Da Vinci Sries II
(1997) e Self/Data Body (1998) do americano Eric Fong.
Posteriormente, em 2000, o projeto Digitized Bodies Virtual
Spectacles, da canadense Nina Czegledy concebeu uma srie
de eventos on-line e on-site visando investigao dos efeitos
perceptuais das tecnologias digitais e imagens biomdicas, sua
insero nas artes e na cultura popular.
No contexto das apropriaes de imagens do corpo ao avesso,
se encontra a obra produzida por Mona Hatoum, em 1994, intitulada Corps tranger, na qual o corpo
revelado pelas mquinas de diagnsticos mdicos, causando repulsa e polmica.
CI ANTEC
// 175 //
[...] uma sala pequena e circular, que envolvia o espectador em sons cor-
porais captados pelo uso de recursos ecogrficos (batidas do corao, res-
pirao etc.), foram colocadas no cho imagens em vdeo endoscpicas,
coloscpicas e de ultra-som daquilo que a cmera viu ao passar sobre,
em torno e atravs do corpo de Hatoun. Imagens do interior e exterior do
corpo como carnes misturavam-se, movendo-se dos braos para a cabea
e pescoo, atravs dos intestinos, nus e canal vaginal. O efeito da obra
tanto mais perturbador porque gradativamente que o espectador pode se
dar conta de que os tubos e orifcios midos e pulsantes so vises inter-
nas do corp em consonncia com o som pulsante da vitalidade do corpo.
(SANTAELLA, 2003b, p.286).
A linguagem plstica das videoinstalaes, sobre a qual se prope debruar brevemente este
artigo, visando o estudo do corpo e das imagens biomdicas, se encontra em pleno andamento
sofrendo constantes mutaes conceituais e estticas. Seus precedentes histricos situam-se
no pioneirismo conceitual dos anos de 1960 e 1970, de artistas como Gil Wolman, Hlio Oiticica,
Wesley Duke Lee, Antonio Dias e Snia Andrade, entre outros. Durante os anos de 1980 e 1990,
desenvolve-se no Brasil [...] uma grande corrente de artistas que trabalham exaustivamente
com os pressupostos poticos do vdeo. Entre eles, destaca-se Arthur Omar, Eder Santos, Cao
Guimares, Regina Silveira e Sandra Kogut [...] (MELLO, 2007, p.9).
No cenrio brasileiro as imagens mdicas foram utilizadas como elementos estticos em obras
como A Ceia (1994) de Diana Domingues, pertencente srie de vdeos-instalaes TRANS-E:
o corpo e as tecnologias. Em 1995, Diana Domingues produz a instalao multimdia intitulada
In-Vscera, que consistia em uma sala fechada na qual:
[...] o pblico emite sons que so amplificados e reverberados, enquanto
assistem a imagens feitas por videolaparoscopias tratadas eletronicamente
que so teleprojetadas em telas transparentes. O pblico pode se deslocar
entre o fluxo de imagens, simulando o percurso no interior de um corpo em
pleno funcionamento. (PRADO, 1997, p.245).
A referida obra composta de imagens do interior do corpo que foram gravadas por micro-
cmeras durantes a ocorrncia real de cirurgias e intervenes mdicas. Imagens do corpo por
dentro, que antes eram vistas apenas pelos mdicos e cirurgies, mas que agora so retiradas do
contexto clnico para compor poeticamente obras de artes que proporcionam novas percepes
estticas e experincias sensoriais com o corpo. Como um passeio inusitado por vsceras vivas
e ambientes orgnicos, que apresentam como que a topografia interna de corpos vivos inseridos
em espaos escuros, repletos de imagens em grande escala, que proporcionam ao pblico a
sensao de adentrar o interior de um corpo em pleno funcionamento.
Estou interessada nos momentos de percepo do sensvel do corpo hu-
mano, auscultado pelas mais avanadas tecnologias. A micro-cmera, com
seu olhar, vasculham a intimidade mais profunda das vsceras. Na instala-
o, o ato de passar entre as imagens, entre os sons que se dissipam e se
regeneram nos micro-instantes eletrnicos permite que a energia natural do
corpo contraste com a energia fsica dos aparelhos. Assim como Alice, vi-
CI ANTEC
// 176 //
vemos o sonho de encolher. Habitamos mundos de iluses, passando pelos
mais ntimos e secretos territrios do nosso corpo. (DOMINGUES, 2008).
Conforme o exposto prope se que as apropriaes das imagens mdicas pelas obras de videoins-
talaes sejam investigadas como manifestaes e intervenes artsticas que se constituem em
algo muito maior do que a simples exposio interna e explicita do corpo humano. Pois se configu-
ram em discursos poticos que visam refletir sobre o impacto das tecnologias mdicas e biom-
dicas sobre o nosso conceito e viso de corpo humano. Ademais, a exposio do corpo interno
confunde a imagem que temos do corpo como aparncia, sobretudo, no que diz respeito ao
imaginrio do corpo e as projees de nossas fantasias.
Imagens de diagnstico so insuportavelmente indiciais. rgos, tecidos,
buracos e reentrncias, pedaos do corpo so expostos, postos a nu. O
que se tem a a carne perscrutada em sua crueza, clulas, molculas,
carne reduzida a si mesma,
dessexualizada. Diante desse
escancaramento do real do cor-
po, a imagem do corpo como
aparncia, reflexo especular
das projees imaginrias, su-
porte para as projees das
nossas fantasias, a primeira
a ser banida da cena. (SANTA-
ELLA, 2003b, p.288).
Em sntese, imagens do corpo nunca antes
vistas agora se tornam pblicas por meio de micro-cmeras e scanners que virtualizam, multipli-
cam e expem o interior do corpo. Da relao sensvel com as tecnologias, surgem os espaos
poticos das videoinstalaes, questionando o que pblico e privado, o externo e o interno, o
real e o sensual.
Para, alm disso, tais obras visam transformar cada vez mais a nossa percepo do
corpo e tornar a frase do orculo grego do Templo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, cada vez
mais real. Ou ser ideal?
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
CZEGLEDY, N. Arte como cincia: cincia como arte. In DOMINGUES, Diana (org.) Arte e vida no Sculo
XXI: Tecnologia, cincia e criatividade. So Paulo: UNESP, 2003, p.125-145.
DOMINGUES, D. IN-VISCERA. (1995). Disponvel em: < http://artecno.ucs.br/proj_artisticos/proj_artisticos.
htm>. Acesso em 29 de Ago. 2008.
LVY, P. O que o Virtual. Trad. Paulo Neves, So Paulo, Ed. 34. 1996.
MELLO, C. Videoinstalaes: prenncios de poticas contemporneas. 16. Encontro ANPAP (2007). Dispo-
nvel em: <http://aprender.unb.br/file.php/176/sobre_arte_e_novas_midias/Videoinstalacoes_prenuncio_de_
poeticas_contemporaneas_-_por_Cristine_Mello.pdf.> Acesso em: 26 mar. 2008.
PRADO, G. Arte e Tecnologia: produes recentes no evento arte no sculo XXI. In DOMINGUES, Diana
(org.) A Arte no Sculo XXI: a humanizao das tecnologias. So Paulo: UNESP, 1997. p.243-246.
REZENDE, R. O Corpo digital como corpo duplo: a tecnologia purificando as formas. Trabalho apresentado
ao NP08. Tecnologias da Informao e da Comunicao V Encontro dos Ncleos de Pesquisa da Intercom.
CI ANTEC
// 177 //
Disponvel em: <http://sec.adaltech.com.br/intercon/2005/resumos/R1492-1.pdf> Acesso em: 28 fev. 2008.
SANTAELLA, L. As Artes do corpo biociberntico. In DOMINGUES, Diana (org.). Arte e vida no Sculo XXI:
tecnologia, cincia e criatividade. So Paulo: UNESP, 2003a. p.65-94.
_____. Culturas e artes do ps-humano. Da Cultura das mdias cibercultura. So Paulo: Paulus. 2003b.
STERLAC. Das Estratgias Psicolgicas s Ciberestratgias: a prottica, a robtica e a existncia remota. In
DOMINGUES, Diana (org.) A Arte no Sculo XXI: a humanizao das tecnologias. So Paulo: UNESP, 1997.
p.52-62.
ITALIAN CITIES: NEW DESIGN AND COLLECTIVE
MEMORY
SONIA MASSARI, PHD STUDENT RESEARCH ASSISTANT - Florence University and
Siena University, ITALY
ABSTRACT // New Italian cities communication. What is new? Are the Italian cities or the urban
communication new? The title is meant to be controversial. Convergence will be the focal point
of this research project the ramifications of which are felt throughout culture, in art, music, de-
sign, social science and education. This paper explores the impact of these convergences on
the traditional notion of the Italian city. Starting from the idea that the Italian Cities are magical
constructions of space and time, this report documents an experimental project which aims at
studying the perception of Italian cities worldwide. I will present a didactic project based on a
multidisciplinary approach combined with an active classroom experience. The final purpose of
this on-going project is to build a new idea of Italian urban culture based on the perceptions of
residents as well as of foreigners. Analyzing the new Italian cities from two different points of view
(foreign vision and residents perception) we are developing a critical awareness of implications
and an understanding of Italian society: i.e. how layout, design, imagery, sound and animation
interrelate with language and literature to create messages that depend on communication to
produce a global effect. The traditional definition of city privileges words over images. Images,
graphic design and architecture are simply the visual embellishments that accompany a more
complex text, not integral elements of that text. The images show expected ways of Italian life,
but their contexts and environments in which they appear, have dramatically changed. Cinema for
directors and their audiences was the perfect tool to watch, to perceive and to understand the city
in all its forms. This paper will explore the relationship between film, architecture, and the urban
landscape drawing on interests in film, urban studies and design, examining the Italian films in the
social, cultural and political context. Architects, city planners, scholars have connected always their
works with the language of images in motion. In Italy since the beginning, the Istituto Luce produ-
ced documentaries which represent the past time, describing the cities and the urban landscapes
how the people wanted to see them. Neo-realism changed the movies and also the perception of
the Italian Cities. The image in motion determines the space and this was crucial to describe the
CI ANTEC
// 178 //
city; the architecture and the urban planning were not only determined by the full spaces but often
defined by empty spaces. Today the Italian city is still changing its shape, and the cinema is an hel-
pful visual art to document this transformation. Private Citizens needs, commercial exchanges and
Malls activities are modifying the structures of the urban landscapes, the social assets and related
communication. Since the idea of literacy is expanding, we must acquire a new understanding of
what city is and how it should be read.
1. PROJECT BACKGROUND
The traditional definition of city privileges words over images. Images, graphic design and archi-
tecture are simply the visual embellishments that accompany a more complex text, not integral
elements of that text. Our critical vocabulary the terms we use to interpret and evaluate the
different forms of communication we experience daily needs to be attuned with the visual culture
in which we now live. Sometimes, especially in magazines, advertisements, tourist guides and
movies, targeted to audience with an average culture, we should find descriptions of Italian cities
which follow common stereotypes, making it difficult to disentangle the real from the myth. The
images show expected ways of Italian life, but their contexts and environments in which they
appear, have dramatically changed. Common Italian typical icons include language, monuments
(or historical buildings) and music from the past. Although some of these have gained more ac-
ceptance than others, it is beyond doubt that the field of urban communication as a whole, have
great potential in the teaching curricula of cultural studies. Different segments of users - such as
those involved in high school programs, study abroad programs, cultural studies (undergraduate
and master level) courses and adult educational programs interested in Italian culture - are the
target groups of our project.
In the US, foreign cultural studies as part of the secondary curriculum have been extensively
researched during the last four decades. It is now universally accepted that urban characteristics
and their traditions are means to recognize or authenticate the Italian identity. The novelty of our
approach lies in the fact that the analysis, used to define and describe Italian cities, will corres-
pond to the response to stereotypes and to specific events, but fully integrated in a general view
of Italian culture.
This study started from a qualitative research among narratives by residents, migrants, students
and non-residents. Specifically, the research aimed at gathering peoples views, beliefs, expecta-
tions and trends in the development of an opinion on the Italian culture (starting from its urban vi-
sion). An additional objective consisted in exploring views on negative and superficial stereotypes
of the Italian city (and the Italians) in the collective imaginary. Public implications on this topic
had included those who discover our country (Italy) for the first time and those who among the
residents, despite its problems, have found it a decent and rewarding place to live.
We think that teachers of cultural studies need different kinds of contents (like those collected in
our project) to teach in order to hand down to their classes a wider knowledge and understanding
of the general setting of Italian culture .
CI ANTEC
// 179 //
Cognitive research has also proved that learning aspects of different cultures (as far as they are from
our mutual background) is most effective when 4 fundamental characteristics are present:
Active engagement
Participation in groups
Frequent interaction and feedback
Connection to real work context
Research indicates that a supplementary study program can support learning, and that it is espe-
cially useful in developing analysis skills of critical thinking, the analysis and perception of details of
a culture. The mere presence of teaching support tools (such as Italian website, DVDs, books and
movies) in the classroom doesnt ensure significant results. Most of them are obsolete and do not
represent the principal changes in Italys urban landscape over the past fifty years.
This study project was created to analyze and interpret the main processes of change and conti-
nuity in the city. It was focused on the numerous layers of shapes, spaces, cultures, functions and
symbols in the Italian contemporary city, understood as active sediments of the past interacting
with the present. Starting from the idea that all students need to recognize selected categories
of analysis of urban structure, urban space, landscape, infrastructure and social sciences con-
nected with architecture, this approach to analysis and interpretation of the city is related to un-
derlying theories and their evolution through time. The main idea was to introduce students to the
history of urban planning and design, during the last 100 years and encourage them to analyze
how the urban structure and the urban space have been shaped by and actively contributed to
the shaping of other processes such as the creation of the nation , industrial capitalism, cultural
identity and globalization, transportation, migration, social mobility, flexible capital accumulation
and inequality. Major examples were taken from Rome and Milan.
Students, who want to discover customs and traditions, need to be able to apply those categories
and tools in order to analyze and understand the reality of our cities. They have to identify the main
contemporary challenges in the development of the city, looking backward to its historic evolution
and forward to its expectations for the future.
2. DESIGN OF THE ITALIAN CITIES
Traditionally, design is understood as a professional process of creating products such as va-
cuum cleaners or software programs, or in terms of visual or graphic design. Design may there-
fore not seem relevant to questions of learning, but in fact it can be a useful way of approaching
many different areas and activities. In its broadest sense, designing is a conscious and planned
process of generating new ideas and taking decisions in order to create something original. When a
community centre designer decides on the aims and nature of a new service, he/she is designing
that service; when a teacher is planning what to teach, how to teach it, and which resources to use,
he/she is designing his/her lessons. In this sense, we are all involved in design to some degree
- in one way or another we can all be said to be designers of our own lives.
In my report I have mentioned the importance of thinking about consequences as we contemplate
design actions. Context matters, as Malcom Gladwell said, because specific and relatively small
changes in the environment can serve as tipping points that transform the larger picture. This is why
CI ANTEC
// 180 //
if we want to study Italian culture and its communicative impact we need a more sensitive approach
to people, context and networks. In nature networks and systems generally start out small and deve-
lop during a process of gradual growth. We have learned by now that the information technology is
changing our world continuously. So do people when they use it. Technology has penetrated every
aspect of our lives. Human, natural and industrial systems are irrevocably interpenetrated.
Our objective in assembling this project has been to illustrate the application of spatial and urban
perspectives across the breadth of the social sciences, without respect to discipline, and by doing
so to encourage others to follow similar paths, to improve on them, and to apply them to new areas
and fields of study. The objective is thus fully consistent with our themes of spatially and urban
changing integrated to social science. The term best practices is controversial and misleading,
but it does convey the notion of leading by example and reflects our attempt to identify leaders in
the application of spatial and urban design perspectives in different disciplines. We used a fairly
complex process to assemble the project. We began by searching the literature on Italian cities
and their memories. Such a diverse collection of material might be organized in any number of
ways, each reflecting one dimension of the range of material. After much debate we decided to
use cross-cutting theme that speaks directly to the urban narrative and our desire to blur the
boundaries of the disciplines: Italian cities language, in terms of space and time. Of course there
are clear differences between studies of individuals, neighborhoods, cities, regions and nations
that are reflected in distinct methodologies and theoretical frameworks.
3. CLASSWORK EXPERIENCE
The image in motion allowed viewing not only as the city was but also as the urban space was
used in practice. Real and unreal city started to coexist in a unique entity: the Italian city was
changing and in the same time the Italian cinema was improving its power. 2 good examples are
Paisan by Rossellini and The Roof by DeSica: historical events have constantly changed the
urban landscape perception and new city forms were built by the personalities of characters.
Antonioni in its Eclipse (1962) represented the blanks/empty places in Rome making an abs-
tract view of the City and the absence was represented through the life story of the protagonists.
Francesco Rosi in The Hands on the City (1963) described the spaces of Naples, characterize
by booming and building speculation: he aims to narrate the reality of a city identity which was
changing in the years. Pasolini in the 70s was interested on the city form. Nowadays the Italian
city has again changed its shape and cinema, in conjunction with other visual arts, aims to docu-
ment the change ( or design revolution?). Polycentric city will be the reality and as Wim Wenders
said... even our cities have become increasingly cold and inaccessible, alien and estrange... are
increasingly dominated by a commercial and social core....Italian cities are becoming more and
more globalized and the Italian society has to be ready to face related problems.
We decided to use sampling of visual and verbal materials, representing a wide variety of new and
traditional mediums. This diversity has a practical purpose: to equip students with the critical and
creative tools they need to become better readers and interpreters in a rapidly changing environment.
As readers and observers, students will increasingly be expected to handle new configuration of city
CI ANTEC
// 181 //
text, especially those that depend on a complex interplay of imaginary, design and untouchable ele-
ments. We started the class work experience by asking students to focus on the elements in each work
individually before they try to analyze the work as a whole. We started from their real life and ask them
to draw their spaces, their cities and their neighborhoods: the use of maps.
Knowledge, graphic conventions, ideas about representation, conventional ways of conceptualizing
earth: a way to analyze our places between them. The map doesnt let us see anything, but it does
let us know what others have seen or found out or discovered. It is a cultural acquisition and this was
the focal idea of our first lesson. In a multimedia, multitasking age, it has become difficult to define
good communication. In the face of rapid change, coupled with the emergence of new genres,
traditional measures may not apply. Our students, in particular, have grown up taking computeri-
zed tests, surfing websites, and watching TV: most of them take instantaneous communication for
granted. That has important implications for how they learn and for how we teach.
For this classroom experience we grouped a variety of works into clusters, so the students (and
their instructors) could better see the point of both convergence and divergence between visual
and no visual compositions. All the exercises we invented aim at suggesting a vocabulary that
students can use to talk about all kinds of cities, in a medium that lets them play with the way they
enter into the material, a medium that is less linear and less static than the textbook.
The syllabus we suggested was only one way to use this course/tool to help students approach a
wide variety of works and cultural studies. We worked directly with Italian lecturers (mostly Italian
native speaker) and we involved them in the interactive process.
We asked students to write their impressions about contents and methodologies used in class. We
were more than happy to discover that all students changed their perspective and started to ap-
proach to the foreign cultures with more consciousness. They become more curious on historical
and cultural issues, ready to compare the new Italian cities with the urban changes. They studied
urban communication with attention on the stereotypes (hidden elements in advertisement, tourist
guide and newspaper) which characterize the Italians. The results were new ideas and more
consciousness.
Therefore as a collection of data of the no residents and residents perceptions of the changing
nature of their city, the final report of this project report would be a valuable document for all pe-
ople interested in narrative differences between external and internal viewers and communication
tools that are changing in Italy. In particular, it will hopefully be helpful for sociologists and social
anthropologists who are concerned with narrative as a means to understand sub urban and urban
life/communication in Italy.
REFERENCES
Cervellati, Pierluigi, ( c2000) Larte di curare la citt, Bologna, Il Mulino,
Micheli, Giuseppe A. (ed.), (c2002) Dentro la citt: forme dellhabitat e pratiche sociali, Milano, Franco Angeli,
Barnett, Jonathan, (1982) An Introduction to Urban Design, Harper & Row, New York,
Programma ONU per gli insediamenti urbani Universit di Napoli Federico II FORMEZ, Habitat Agenda Agen-
da Habitat: verso la sostenibilit urbana e territoriale, (c2002) Milano, Franco Angeli,
Boyer, M. Christine, (1994) The City of Collective Memory: Its Historical Imagery and Architectural Entertain-
CI ANTEC
// 182 //
ments, MIT Press, Cambridge, Mass.,
Boyer, M. Christine, (1983) Dreaming the Rational City: The Myth of American City Planning, MIT Press, Cam-
bridge, Mass.,.
Unwin, Raymond,( 1994) Town Planning in Practice: An Introduction to the Art of Designing Cities and Subur-
bs, Princeton Architectural Press, New York,.
Whyte, William, (1980) The Social Life of Small Urban Spaces, The Conservation Foundation, Washington,
D.C.,.
Calthorpe, Peter, (1993)The Next American Metropolis: Ecology, Community and the American Dream, Prin-
ceton Architectural Press, New York,.
Collins, George R. and Collins, Christine Crasemann, (1986) Camillo Sitte: The Birth of Modern City Planning,
Rizzoli, New York,
Cullen, Gordon, (1961) Townscape, Reinhold, New York, Rossi, Piero Ostilio, (2000) Roma: guida
allarchitettura moderna 1909-2000, Roma-Bari, Laterza,
Jenks, Charles, Architecture 2000, Predictions and methods, NY and Washington
Soja, Edward W, (2000) Postmetropolis: Critical Studies of cities and Regions, Malden, MA, Blackwell Pu-
blishers,
Park, R.E. and Burgess, E.W. (1925) The City, Chicago, University of Chicago Press
Reyneri E (1998b), Addressing the Employment of Migrants in a Irregular Situation. The case of Italy, Paper
presented at the Technical Symposium on International Migration and Development, Hague, Netherlands,
June 1998.
Veugelers J (1994), Recent Immigration Politics in Italy. A Short Story, West European Politics 17(2): 33-
49
Simon J (1994), On the Economic Consequences of Immigration in H Giersch (ed) Economic Aspects of
International Migration, Berlin
DESIGN AND DIALOG STIMULATING INTEGRATIVE
COMPETENCES ON INTERACTING CULTURES
FOR DESIGN AND SOCIAL INNOVATION
TOM BIELING - DESIGN RESEARCH LAB (DEUTSCHE TELEKOM LABORATORIES, BERLIN/GERMANY
BACKGROUND
Culture defines the way and degree of our social behaviour, our attitude and intervention on sha-
ping human life beyond and within the conditions supplied by nature.
Developed through social tradition and human definition and interpretative manners, culture will
therefore always touch and modify human life, the environment and society.
It contains therefore to a similar degree technological processes, politically influenced skills, social
phenomenology as well as denaturalised (parallel) world constitutions.
Design within this framework is an essential part of culture and has a marked influence on the de-
velopment of society and environment.
Nevertheless Culture on the other hand is an integral element of design and will entail different inter-
pretations, applications, use, understanding and reactions in different cultures.
CI ANTEC
// 183 //
In an intercultural exchange, in particular in view of an increasing globalisation, probably more than
ever, challenges and responsibilities of the designer are multiplied. Design generally being future
orientated and associated with innovative competence anyway, needs to consider simplification and
conflict-orientation concerning the reception of its output in particular, and to collective interaction
in general.
Of course in view of intercultural integration questions, design can only be one piece in the puzzle
towards an improvement of the social problem situation.
Nevertheless, in the course of this paper, we shall underline the importance, the use and the usage
and influencial possibilities of what we shall call integrative competence, in particular as this does
not only refer to the intercultural aspects, but also attempts a certain methodical design structure,
which can be applied interdisciplinarily (simply integrative) to other areas of life, namely producti-
ve, didactic, educative and knowledge gaining ones.
We are considering in this respect the coherence of design and responsibility, in particular regar-
ding the identification of process parallels of design and integration concerning socially, politically
and socially relevant communication channels and sequences. These latter will distinguish the
dependence and interrelationship between design
and integration education and didactic, as both in-
corporate a receptive and productive and reflexive
coherence.
As Erlhoff argues, Design as a typical modern un-
disciplined discipline [] can comprehend the re-
quirements and problems of our present time and is
being urged to develop ecologic, social, economic,
technical and cultural possibilities of precise reflexion
and solutions for these problems. [] Design has im-
plicitly always been there. It characterizes our life in
varied ways and merely needs the public and speci-
fic awareness of its existence.
44
PICTURE1: COMMUNICATION AND THE INFLUENCE OF CONTEXT-RELATED
INTERPRETATION.
HYPOTHESIS
Man touches on design, design touches on man. Consequently design (products, information, servi-
ces etc) is in principle being received, grasped, adopted, accepted, refused, misused, interpreted
in some way in spite of being used in a way in which it was attended to be used or not.
Therefore design acts in unavoidable conjunction with social structure, social and individual acting,
ergo with human (behaviour). If we characterise culture as a symptom of how people treat each
44 Erl hoff, 1995; Transl ati on: Bi el i ng, 2008
CI ANTEC
// 184 //
other
45
, and if we consider an improvement of interhuman dealings desirable, then it becomes com-
prehensible, that design might potentially become an active helping part, especially if we attribute
(at least) the ability to design (if not even the main task) to be a process-optimising discipline (e.g. in
productive, informative, artefact, acoustic, visual, interface-, service- or coordinative matters).
Here becomes apparent a process-referred parallel (to intercultural integration-process): Let us
start from the assumption of a heterogenic model of society, which is based on the dialectic prin-
ciple of innumerable contrasts (e.g. generative, gendered, cultural, religious, economic, ethnic,
financial, geographic etc), then integration becomes a comprehensible tool in optimising in deficit
societal process (e.g. enviousness, discord, conflict, prejudice etc). Both design and integration
have in common a certain way of process: e.g. communication, simplification, optimisation, help,
linking etc. Both support therefore an improvement of (e.g. individual, artificial, social) deficits.
And both can be reciprocal stimulating.
Against this background it becomes reasonable, that in social and design discourse conflict and
debate are being constructively and productively evident and useful. Without controversy, without
dispute, society in the end would be inconceivable,
and design became robbed of one of its basic in-
novative mechanisms. Both the societal and design
improvement need and use the impulse of reflection
as well as the interchange of information, knowledge
and opinion.
Starting out from Selles statement, that all our surroun-
dings are designed
46
leads us to the assumption that de-
sign tends to have manipulatively stimulating power. Not
to be discussed, if its effects are positive or negative, nor
if they are lead consciously (e.g. in provocation or critical
design
47
) or unconsciously.
PICTURE2: STIMULATING INTEGRATIVE COMPETENCES.
QUESTION:
The investigation on Design as a basically integrative, since communicative model, leads towards
the following question: to what extent can we use the fact of designs societal relevance as a poten-
tial useful model for social interaction- and integration-process? And vice versa: To what extent can
we use confrontation with and through design within these processes, to evolve innovative methods,
products and communicative models?
We shall focus on the following goals:
45 Hanna Del f, Jutta Georg-Lauer, Chri sta Hackenesch, Jutta Georg-Lauer von Rowohl t: Phi l osophi e; Rowohl t, 1988, S. 111
ff.; ISBN 3-499-16310-1)
46 Gert Sel l e: Desi gn i m Al l tag; Campus, 2007; ISBN 3-5933-833-73
47 James Auger: Regardi ng Desi gn Research; pg.92 ff. i n: Roger Nr. 3; Internati onal Angst; 2005
CI ANTEC
// 185 //
1. Develop a didactic tool to raise social awareness as a motor for both social
48
and productive
innovation.
2. Facilitate bottom-up social learning as a complement to traditional expert-driven learning
49
3. Motivate either design educative institutions or innovation development categories in learning to
learn from everyday life situations in order to foster innovative and integral strategies.
VALUE AND IMPORTANCE
In this paper we shall equally stimulate the integration-discourse and the common understanding
of designs ability in optimizing process as well as its social responsibility.
We use this exploration as an approach to discuss a didactic design theory in order to formulate a
frame of reference for design research and practice.
Finding out, to what extent designerly methods and strategies might be used in other discipli-
nes (e.g. concerning difficulties in social interaction) and vice versa, stimulates both the design
discourse and the interchange between design and other sciences (e.g. sociology, anthropology,
psychology etc).
QUALIFICATION
In this respect we shall focus on integrative processes: The improvement of intercultural integra-
tion using designerly methods, tools and strategies (e.g. Entwurfsmethodik, researching practice,
problem analysis, surroundings research, system concepts, etc), as well as the improvement of
deficit (social, informative, structural) states through design, supported by integral methodology.
ARTE, COMPLEXIDADE E A ESTTICA DIGITAL NA
ARQUITETURA CONTEMPORNEA
WILSON FLORIO, UNI CAMP / MACKENZI E, ARQUI TETO E DOUTOR EM ARQUI TETURA E
URBANI SMO
RESUMO // Diante da complexidade e do rpido crescimento das grandes cidades, necessrio
termos parmetros que nos permitam analisar propostas arquitetnicas e seus impactos sobre o
cenrio urbano. O crescente nmero de edifcios com formas arrojadas na contemporaneidade
48 Roberto Barthol o, UFRJ, ISCID 2008 - Barthol o agrees wi th Ezi o Manzi ni , who concei ves soci al i nnovati on wi th focus on
the l ocal di mensi on. He al so bel i eves that i n order to change the change i t i s necessary to fi nd the energy i nsi de the l ocal
i ni ti ati ves, and desi gners rol e i n thi s systemi c change i s strategi c. Desi gners are to provi de a bri dge between the i nternal
and the external condi ti ons of the change so that l ocal experi ences that show i nnovati ve knowl edge and possi bi l i ti es can
take pl ace.
49 Vi ctori a W. Thoresen, Francoi s Jegou, Sara Gi rardi : Looki ng for l i kel y al ternati ves (LOLA), ICSID 2008
CI ANTEC
// 186 //
tem despertado interesse e profundas discusses que vo alm do campo da arquitetura e arte
contempornea, e que inclui conceitos advindos de outras reas de conhecimento. O impacto visual
desses edifcios tem provocado maior interesse sobre as fronteiras entre arquitetura e escultura. O
objetivo deste artigo analisar as condicionantes conceituais e tecnolgicas atuais que conduziram
para a construo da esttica digital na arquitetura contempornea de formas complexas. Essa
anlise realizada a partir de algumas mudanas ocorridas no conceito de espao nos ltimos 20
anos, que derivada de conceitos ps-estruturalistas, assim como do novo modo de produo,
a fabricao digital. Destacamos a importncia de operar com os princpios da complexidade de
Edgar Morin. Para tal apreciao selecionamos quatro edifcios construdos nos ltimos 10 anos
para refletir sobre importantes pressupostos tericos e prticos que fundamentam essas propos-
tas, tais como a idia de informe, rizoma, conectividade, multiplicidade, biomimesis, diluio de
formas puras, topologia e blob. Os arquitetos selecionados so: Frank Gehry, Coop Himmelblau,
Cook e Fournier, e Acconci Studio. As formas amorfas, fracionrias, intersticiais e as superfcies
curvilneas no lineares, decorrentes das inmeras possibilidades de manipulao topolgica
oferecidas por recursos de modelagem computacional, so analisadas a partir desses conceitos.
O autor analisa tais edifcios diante os espaos pblicos da cidade, tais como praas e parques.
A pesquisa realizada e as imagens colhidas nos Estados Unidos e Europa permitem ilustrar e
demonstrar que esses edifcios, como obras de arte, contribuem para re-qualificar o espao e
torn-lo mais aprazvel, incitando comentrios e convidando a participao dos habitantes da
comunidade. Quando as manifestaes artsticas se conectam com o pblico, atuam como um
poderoso instrumento de cidadania, fazendo com que a arquitetura seja plenamente engajada na
sociedade. A inteno apontar os mecanismos utilizados pelos arquitetos na criao de espa-
os curvilneos de variao contnua, e seus conseqentes impactos sobre a paisagem urbana.
Portanto percorremos um caminho que vai da teoria materializao pela tecnologia.
PALAVRAS-CHAVE // Informe; Filosofia da Desconstruo; Complexidade; Processo de Projeto; Per-
cepo Urbana.
ABSTRACT // In front of the complexity and the fast growth of the great cities, it is necessary having
parameters which allow us to analyze architectural proposals and its impacts on the urban scene.
Nowadays the increasing number of complex building forms has created an interest and deep dis-
cussions that go beyond the field of contemporary architecture and art, and it includes concepts
emanated from other areas of knowledge. The visual impact of these buildings has provoked big-
ger interest on the frontier between architecture and sculpture. The aim of this article is to analyze
both conceptual and technological conditions that had lead for the digital aesthetic construction in
contemporary architecture of complex form. This analysis is carried out from some changes in the
concept of space occurred in the last 20 years, which is derived from post-structuralism concepts,
as well as in the new way of production, i.e., digital fabrication. We point out the importance to ope-
rate with the Edgar Morin complexity principles. For such appreciation, four buildings constructed
in last the 10 years were selected to reflect on important theoretical and practical purpose that bases
these proposals, such as the idea of inform, rhizome, connectivity, multiplicity, biomimesis, dilution
CI ANTEC
// 187 //
of pure forms, topology and blob. The selected architects are: Frank Gehry, Coop Himmelblau, Cook
e Fournier, e Acconci Studio. The amorphous, fractional, interstitial forms and the non-linear curved
superficies, consequence of the innumerable possibilities from topological manipulation offered by
resources of computational modeling, are analyzed from these concepts. The author analyzes such
buildings ahead the public spaces of the city, such as squares and parks. The research and the
images obtained in the United States and Europe allow illustrate and demonstrate that these buil-
dings, as works of art, contribute to the re-qualification of the space and turn it to be more pleasant,
stirring up commentaries and inviting the participation of the inhabitants of the community. When
the artistic manifestations connect with the public, act as a powerful instrument of citizenship,
making the role of architecture fully engaged in society. The intention is to point the mechanisms
used for the architects in the creation of curvilinear spaces of continuous variation, and its conse-
quent impacts on the urban landscape. As a result we cover a way that goes from theory to the
materialization by technology.
KEY-WORDS // Inform; Deconstruction; Complexity; Design Process; Urban Perception.
Deleuze afirma que so absolutamente necessrias expresses anexatas para designar algo
exatamente (DELEUZE & GUATTARI, 1995, p.32). Para definir algo complexo, composto de sub-
sistemas, que no pode ser descrito e sintetizado por uma nica forma exata, arquitetos como
Greg Lynn utilizam o conceito de anexato (LYNN, 1998), isto , descries aproximativas de algo
que no tem uma configurao regular, como o caso do informe. Atualmente o informe uma
operao da Desconstruo, uma desmontagem que tem como objetivo questionar e libertar-se
das convenes representativas.
Nos ltimos 20 anos o domnio do informe se tornou possvel graas a introduo da tecnologia
computacional e fabricao digital, que permitiu superar os limites da representao e dos cl-
culos dimensionais. Esse controle sobre a geometria do informe abriu um campo para a experi-
mentao e explorao em arquitetura.
O conceito de rizoma (DELEUZE & GUATTARI, 1995, p.32-33) no poderia ser mais instigante
na esttica do informe. Transposto ao espao arquitetnico, este conceito altamente provo-
cante, pois estimula a imaginao na criao de espaos contnuos, com mltiplas conexes
no lineares, cujas formas curvilneas se metamorfoseiam constituindo mltiplas dimenses, sem
hierarquia.
Outro conceito fundamental o de espao liso: um espao amorfo, informal (DELEUZE & GUAT-
TARI, 1997, p.182). Espao liso um espao mutante que atua diretamente sobre todos os sen-
tidos. Os espaos curvilneos da arquitetura informe so materializaes do conceito de espao
liso de Deleuze e Guattari, so espaos nmades, que nos impele a circular. Provocativos, esses
espaos intensivos nos impelem ao movimento. Sua geometria topolgica percebida por dis-
tncias e no por medidas, pois metamorfoseia num continuum, com a diluio dos limites, sem
comeo nem fim.
Edgar Morin define complexidade como um tecido de constituintes heterogneos inseparavelmente
associados. A complexidade apresenta-se com traos inquietantes da confuso, do inextricvel, da
CI ANTEC
// 188 //
desordem, da ambigidade, da incerteza (MORIN, 2002, p.19). A constante renovao urbana e a
complexidade crescente de edifcios, que tm que abrigar mltiplas e novas funes, fez com que o
tecido urbano fosse constitudo por uma rede de conexes. Complexus significa o que foi tecido
junto, afirmou Morin (2002, p.38). Nos ltimos anos tm-se observado uma nova arquitetura que
incorpora os princpios da complexidade tais como conectividade, emergncia, fluxo, imprevisibi-
lidade e rizoma.
Outro conceito importante o de espao topolgico. Como ramo da matemtica da continuidade, a
topologia
50
estuda aquelas propriedades de objetos geomtricos que no mudam quando aplica-
se deformaes. Espaos topolgicos so estruturas que permitem a formalizao de conceitos
tais como convergncia, conexidade e continuidade. Assim, o que torna a topologia particular-
mente atraente no campo da arquitetura no so apenas as novas formas produzidas, mas a
mudana de nfase da forma fsica para a estrutura de interconexes, onde o processo mais
importante do que cada um dos possveis resultados decorrentes.
Nas ltimas dcadas a integrao entre modelo digital tridimensional com a fabricao digital
CAD/CAM
51
e CNC
52
tornou possvel materializar formas complexas. Paralelamente a evoluo
da denominada Tecnologia da Informao e Comunicao, a TIC, propiciou o gerenciamento de
banco de dados dos elementos construtivos em modelos 3D/4D/5D
53
, facilitando o controle sobre
formas livres e amorfas.
Na arquitetura de formas complexas, dotada de superfcies curvilneas de variao contnua, a
flexibilidade de manipulao topolgica de curvas flexveis (as splines
54
) e as superfcies NURB
55
possibilitam a criao de uma lgica fluida de conectividade entre os elementos construtivos.
Como conseqncia desse processo, o modo de produo de projetos de arquitetura foi alte-
rado aps a introduo das tecnologias computacionais. As principais mudanas ocorreram na
produo de formas de geometria varivel. As formas livres e no convencionais dos edifcios
analisados apontam novas linguagens decorrentes das possibilidades de manipulao param-
trica e topolgica operada por ferramentas digitais. Tais edifcios adquirem um carter artstico
decorrente de sua aparncia escultural.
A recente aplicao das tecnologias computacionais tanto na concepo como na produo de
superfcies curvilneas de grande complexidade se deve a seis principais fatores: 1. incorporao
de conceitos ps-estruturalistas na arquitetura contempornea; 2. novos conhecimentos sobre
manipulao de formas por meio de tcnicas de modelagem digital; 3. novos recursos para visua-
lizao, simulao de comportamentos e clculos de superfcies complexas em modelos digitais;
4. novos materiais flexveis; 5. a tecnologia de fabricao digital; 6. a capacidade de gerenciar
50 Topol ogi a (do grego topos, l ugar, e l ogos, estudo) estuda os espaos topol gi cos.
51 Si gni fi ca, respecti vamente, Desenho Auxi l i ado por Computador (Computer Ai ded-Desi gn) e Fabri cao Auxi l i ada por
Computador (Computer Ai ded-Manufacturi ng).
52 Si gni fi ca Computador por Control e Numri co (Computer Numeri c Control ), que envi a as i nformaes de um banco de
dados di gi tal como i nstrues para a mqui na real i zar suas operaes.
53 Enquanto os model os 4D i ncorporam ao banco de dados dos obj etos desenhados o tempo e a programao das etapas
de sua execuo, os model os 5D acrescentam os custos s pl ani l has do banco de dados.
54 As curvas fl ex vei s spl i nes (s = curva e pl i ne = pol i l i nha) foram cri adas na dcada de 1970 para permi ti r geometri zar
superf ci es cont nuas. poi s so formadas por pol i nmi os de 3 grau ou superi or.
55 As NURBs, abrevi ao de Non Uni form Regul ar Beta Spl i nes, so superf ci es que podem ser mani pul adas a parti r de uma
mal ha de pontos di stri bu da no espao, a parti r da qual pode-se i nterati vamente mani pul ar sua forma.
CI ANTEC
// 189 //
banco de dados em modelos 3D pela TIC.
Neste artigo selecionamos quatro edifcios construdos nos ltimos 10 anos para refletir sobre im-
portantes pressupostos tericos e prticos que fundamentam essas propostas, tais como a idia
de informe, rizoma, conectividade, multiplicidade, biomimesis, diluio de formas puras, topologia
e blob. A hiptese que esses edifcios para a sociedade do espetculo, na concepo de Guy
Debord (1997), almejam ser algo a mais do que meros edifcios com fins utilitrios, ao contrrio,
desejam ser obras de arte, pois so realizadas com o propsito de emocionar e provocar o espec-
tador, com a estranheza de suas formas curvilneas, sensuais e orgnicas. Almejam ser edifcios
que reflitam a sociedade de seu tempo, com todas as suas contradies e incertezas.
1. O edifcio Kunsthaus, em Graz, ustria, um exemplo disso. Concebido como uma grande
forma amorfa em vidro, atrai para si todos os olhares, com suas luzes, brilhos, reflexos e transpa-
rncias, pois contrasta com o entorno.
A estrutura biomrfica do edifcio Kunsthaus (2000-03), projetado por Peter Cook e Colin Fournier
(figura 1), foi concebida para abrigar Exposies de Artes e Mdias Contemporneas. Este edifcio
formado pela juno de blobs que interagem, formando uma grande estrutura informe. Para
encontrar a forma geomtrica desejada, foi utilizada uma modelagem baseada em uma malha de
pontos que gravitam em torno da forma escultural, onde alterando-se estes pontos a superfcie
interativamente aproxima-se forma desejada (BOGNER, 2004). A subdiviso da superfcie em
uma malha regular de tringulos gerou a pele envoltria e a estrutura do edifcio, fabricado pelo
sistema CAD/CAM.
Inserido em rea urbana prxima ao centro comercial, este edifcio ultrapassa a altura dos edi-
fcios prximos. Alm disso, o arrojo e a continuidade de sua superfcie curvilnea de vidro azul
contrastam fortemente com a regularidade dos edifcios monoblocos vizinhos, dotados de pare-
des brancas, beges e amarelas e telhados cermicos vermelhos. Isto fica mais evidente quando
se avista o edifcio do alto de uma das colinas prximas (figura 1).
As aberturas zenitais (chamados nozzles) se projetam como tentculos para captar a luz natu-
ral (figura 1), e se destacam na paisagem do entorno, rodeados por telhados inclinados. A forma
blob predominante se apia sobre um trreo envidraado de geometria regular, propiciando uma
idia de leveza e suspenso de uma forma difana, como uma bolha de ar, que flutua acima
do nvel da rua. Alm disso, o edifcio contm uma srie de luzes sobre a sua superfcie externa
(figura 1) denominada urban screen, onde cada lmpada atua como um pixel controlado por um
computador central. noite o edifcio serve como uma grande tela urbana, caracterstica presente
em edifcios recentes que embutem dispositivos eletrnicos informatizados, tornando-se grandes
telas para veicular mensagens, desde cores e textos at imagens em grandes dimenses.
Localizado na esquina entre duas vias principais, o pedestre no passa inclume diante das sinuo-
sidades da fachada curvilnea. A curvatura proporciona leveza ao edifcio, ao mesmo tempo em que
sua funo no se revela do lado exterior. Embora extravagante na aparncia, este edifcio qualifica
a rea e no agressivo diante de edifcios tradicionais.
A maior crtica revela-se em seu espao interior. Apesar de ser bastante atraente, e de propiciar um
carter artstico, a rea onde est inserido pequena diante das necessidades espaciais previstas
CI ANTEC
// 190 //
para o programa de necessidades. Somente no ltimo pavimento pode-se ver e sentir a dilatao do
espao interno devido ao p-direito mais alto proporcionado pela curvatura da cobertura. Enquanto
que do mezanino interno pode-se apreciar esse espao com aberturas zenitais, no espao da co-
bertura na agulha (needle) pode-se observar a cidade (figura 1).
FIGURA 1: EDIFCIO KUNSTHAUS, GRAZ,
USTRIA. FONTE: WILSON FLORIO, 2008.
2. O edifcio Island in the mur,
projetado por Vito Acconci, est
localizado tambm em Graz, pr-
ximo ao Kunsthaus. Localizado
sobre o leito do rio, proporciona
outras percepes urbanas. pri-
meira vista parece um barco no meio do rio caudaloso (figura 2). Projetado para ser um local para
lazer, abriga um bar em seu interior e um local aberto e descoberto para pequenos shows ao ar
livre. Alm disso, est conectado com passarelas que ligam um lado a outro da avenida central da
cidade. Pode-se percorrer as passarelas sem entrar no bar, fazendo com que esse espao pblico
possa ser desfrutado por toda a populao.
FIGURA 2: ISLAND IN THE MUR, GRAZ, USTRIA /
SHOWROOM DA BMW, MUNIQUE, ALEMANHA.
A continuidade de sua geometria to-
polgica proporciona movimento de
todos os pontos de vista. A cobertura
abriga e acolhe os usurios de ma-
neira muito agradvel, pois tanto a
escala como as propores dos espaos so adequadas ao uso pretendido.
Os espaos internos (figura2) foram distribudos em pequenos nichos bastante acolhedores, cujos
ambientes envidraados voltam-se para a vista do rio e dos edifcios ao seu redor. A transparncia
proporcionada tanto pelos vidros como pelas telas cria uma integrao visual interior-exterior.
Embora seja de estrutura metlica, os espaos internos recobertos de material plstico azul so
aconchegantes. As passarelas em rampas suaves e a cobertura metlica curvilnea contm uma
continuidade espacial, onde pode-se estabelecer um fluxo natural e contnuo entre o interior e o ex-
terior do edifcio. Ao percorrer tais espaos as pessoas sentem-se como se estivessem percorrendo
um tnel curvilneo. Tanto durante o dia como noite, esses espaos so utilizados pela populao,
particularmente turistas.
O edifcio pode ser observado tanto ao longo da avenida por quem transita a p, como da ponte e
CI ANTEC
// 191 //
da passarela prxima. A iluminao especial noite, azulada, enfatiza as formas do edifcio, reve-
lando seus espaos internos. O edifcio qualifica a paisagem ao seu redor, constituda por gua e
grandes rvores.
3. O grande edifcio para o Showroom da BMW foi projetado pelo escritrio Coop Himmelblau, em
Munique, Alemanha. Localizado prximo ao Parque Olmpico, em uma esquina de grande movi-
mento de automveis, este edifcio se destaca tanto pelas suas formas arrojadas como por sua mo-
numentalidade. O edifcio de estrutura metlica revestido por chapas de alumnio na cor natural
que brilham sob o sol. Coerentemente suas curvaturas assemelham-se ao design dos automveis
esportivos atuais. Sua geometria topolgica incorpora as mais recentes tcnicas construtivas de-
rivadas da fabricao digital.
Situado em rea privilegiada, cercado por vegetao e distante de edifcios mais altos, este edi-
fcio de grandes dimenses estabelece um gabarito de altura para a rea. distncia o aspecto
escultural evidente, mas no agride visualmente o entorno imediato.
Os espaos internos so amplos e agradveis. No trreo pode-se visualizar os ltimos lana-
mentos das linhas de automveis tradicionais e esportivos. De seus mezaninos e passarelas
conectados entre si pode-se ver os automveis circulando na ilha central, o Showroom no trreo
e a cidade ao seu redor. As fachadas envidraadas criam transparncia e leveza ao edifcio, en-
quanto que a cobertura metlica contnua e oscilante estabelece dilataes e contraes em seu
espao interior. Em todas as direes nota-se a forte presena da alta tecnologia. Nos detalhes
e acabamentos observa-se o rigor e competncia tcnica para construir superfcies topolgicas
de grande plasticidade.
Apesar de afastado fisicamente dos edifcios projetados por Frei Otto, mantm uma relao de
semelhana devido curvatura de suas formas. distncia o pedestre pode visualizar e notar
como esses edifcios do Parque Olmpico e o novo Showroom da BMW mantm uma relao
harmnica, reforando a identidade peculiar do lugar.
4. O Experience Music Project, projetado pelo arquiteto Frank Gehry, est localizado na cidade
de Seattle, EUA. O EMP chamado Museu do Rock, pois abriga a coleo de objetos pessoais
de Jimmy Hendrix, Nirvana e outras bandas de rock, alm de salas especiais que mostram a
trajetria da msica norte-americana. Embora tenha sido originado a partir de modelos fsicos, o
EMP foi digitalizado e desenvolvido com tcnicas de modelagem digital, cujo modelo 3D forneceu
todos os desenhos precisos para a fabricao digital de seus componentes (FLORIO, 2005).
Localizado ao lado de um parque de diverses e prximo a um parque urbano torna-se um marco
na cidade.
A multiplicidade de vistas e heterogeneidade dos espaos internos (figura 3) surpreendem o usu-
rio, convidando-o a percorrer e descobrir vagarosamente espaos sinuosos. Ao contrrio das for-
mas padronizadas tradicionais, este edifcio desafia qualquer expectativa de perpendicularidade e
ortogonalidade, com a amorfia e sinuosidade de formas complexas.
As chapas de alumnio em 5 cores diferentes que compem os elementos construtivos e o ao da
estrutura foram cortados por mquinas controladas por computador. As chapas que revestem o
edifcio so todas diferentes entre si graas a possibilidade de fabricao digital.
CI ANTEC
// 192 //
Mais do que uma experimentao formal, este edifcio desafia a purificao das formas adotadas
pelos arquitetos por sculos, e dispe-se a apontar novas possibilidades estticas.
FIGURA 3: EXPERIENCE MUSIC PROJECT,
SEATTLE, EUA. FONTE: WILSON FLORIO,
2003.
Diante das formas ortodoxas da
arquitetura ocidental, esses no-
vos edifcios rompem com uma
tradio de operar com formas
puras, e passa a adotar uma
complexidade escultural decorrente de combinaes inusitadas de formas curvilneas de grande
expresso plstica.
A esttica digital opera com a continuidade de superfcies curvilneas, cuja geometria topolgica
requer definies precisas em modelos digitais tridimensionais e processos de fabricao digital.
Esta arquitetura tenta operar na complexidade, produzindo edifcios esculturais como obras de
arte, mas sem esquecer de seu carter utilitrio.
Estes edifcios, dotados de formas amorfas dinmicas, parecem ser constitudos de formas e
movimentos congelados no tempo. Tais edifcios exigem que as pessoas percorram o espao
(liso) para apreciar as mltiplas vistas oferecidas pela continuidade de seus espaos organica-
mente distribudos. A relao entre o espao pblico e o privado se d de maneira respeitosa,
sem agredir nem criar impactos negativos diante a paisagem urbana. Como excees dentro do
conjunto de edifcios da cidade, estes edifcios se justificam como obras artsticas que qualificam
espaos pblicos e criam uma identidade no cenrio urbano.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS:
BOGNER, Dieter. A Friendly Alien. Ostfildern-Huit: Hatje Cantz Verlag, 2004.
DEBORD, GUY. A sociedade do espetculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.
DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Flix. Mil plats: capitalismo e esquizofrenia. Ttulo original: Mille plateaux
Capitalisme et schizophrnie. Traduo : Aurlio Guerra e Clia Pinto Costa. Volume 1. So Paulo: Editora
34, 1995.
DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Flix. Mil plats: capitalismo e esquizofrenia. Ttulo original: Mille plateaux
Capitalisme et schizophrnie. Traduo: Peter Pl Pelbart e Janice Caiafa. Volume 5. So Paulo: Editora
34, 1997.
FLORIO, Wilson. O uso de ferramentas de modelagem vetorial na concepo de uma arquitetura de for-
mas complexas. Tese (Doutorado). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de So Paulo,
FAUUSP, 2005.
LYNN, Greg. Folds, Bodies & Blobs: collected essays. Blgica: La Lettre Vole, 1998.
MORIN, Edgar. Introduo ao Pensamento Complexo. Lisboa: Instituto Piaget, 2002.
MORIN, Edgar. O mtodo 1 : a natureza da natureza. 2a. Ed. Porto Alegre : Sulina, 2005.
CI ANTEC
// 193 //
ANLISE DOS DETERMINANTES DA ARTE E
DESIGN:EXPRESSES E NECESSIDADES HUMANAS.
ANA PAULA DOS SANTOS - ESPECIALISTA EM DESIGN GRFICO E ESTRATGIA CORPORATI-
VA (UNIVALI), // PATRCIA MARIELY SPONCHIADO - ESPECIALISTA EM DESIGN GRFICO
E ESTRATGIA CORPORATIVA (UNIVALI), PS-GRADUANDA EM CRIAO E PRODUO EM
COMUNICAO (UNOESC), // SUZANA FUNK - ESPECIALISTA EM DESIGN GRFICO E ES-
TRATGIA CORPORATIVA (UNIVALI), MESTRANDA EM DESIGN & TECNOLOGIA (UFRGS),
RESUMO // Este trabalho consiste na anlise entre a arte e o design apurando suas peculiaridades
e semelhanas entre si e a incidente interferncia sobre a vida humana. Inicialmente sero abor-
dados os principais aspectos de ambas as reas isoladamente, concluindo com um comparativo
relacionando-os.
PALAVRAS-CHAVE // Design, Arte e Humanidade.
A arte existe desde as pocas mais remotas da humanidade. Sua reproduo d-se de for-
ma singular por estar ligada ao campo emocional. O artista retrata suas emoes sem es-
boos, sem planejamento apenas emite diretamente as suas convices sobre o mundo.
Esta maneira que o homem utiliza para exteriorizar seus sentimentos faz da arte um elo en-
tre o mundo e o homem, eis um artifcio vital para que suas opresses, desejos e limita-
es sejam liberados assim seu caos interior dominado, contribui BAUMGART (1999).
A obra de arte deve ser intensamente vivida, sentida e expressada. A interpretao vem dos
sentidos esta sua essncia que jamais deve ser encarada por opostos por no haver definies
que a titulem. Toda interpretao de uma obra pessoal baseada em uma viso carregada de
princpios e experincias contidas em cada ser.
ARGAN (1998), os prprios conceitos de bom e mau, os quais se recorre
no juzo esttico, nada mais so, incluindo-se toda a razo metafsica, do
que frmul-as resumidoras com as quais se indicam sries de experincias
positivas ou negativas, ou de juzo de valor e de no valor.
O design j marcado por uma revoluo em grande escala, a reproduo em massa uma de
suas caractersticas mais marcantes. Mesmo que de forma indireta e automtica, muitas vezes
est mais em contato com o homem do que estaria a prpria arte. Seu papel fundamental na vida
do homem transcendental. difcil desintegr-lo da modernidade onde o homem est condiciona-
do ao fator temporal e tudo deve ser prtico e funcional para favorecer a correria do sculo XXI.
So inmeras as definies para o design. Segundo AZEVEDO (1998): A palavra design vem do
ingls e quer dizer projetar, compor visualmente ou colocar em prtica um plano intencional.
H muitos conflitos tericos entre as duas reas. O design e a arte possuem vnculos importantes,
mas conceitualmente diferem em alguns pontos, principalmente quando so analisados os mto-
dos de criao e os objetivos de cada rea.
Para READ (1977), a diferena fundamental entre arte e design que o design sempre demanda-
do por uma necessidade de comunicao especfica.
Enquanto que a arte, tambm tem a funo de expressar e at comunicar, porm nem sempre tem
CI ANTEC
// 194 //
o intuito de provocar uma ao, ou interpretao por parte do seu receptor. Essas interpretaes
so na maioria dos casos, dependentes da interpretao do espectador, ou seja, so livres e no
especficas como objetiva o design.
claramente notrio que a maioria dos trabalhos do design envolvem caractersticas artsticas, mas
o seu principal objetivo a soluo de um problema tcnico, que surge de uma necessidade.
A arte por sua vez criada por meio da inspirao de um artista, que leva em conta sentimentos, a natureza,
acontecimentos do cotidiano e da poca em que ele vive. Quanto aos objetivos da sua produo, na maioria
das vezes no so to especficos como no design. A interpretao pode ficar a cargo do observador.
Conjugados ou individualmente, a arte e o design so importantes e esto presentes na vida das
pessoas. Quem sabe o design esteja mais presente no cotidiano, como nos objetos visuais, de
uso e de consumo, mesmo que essa presena seja de forma implcita, ou seja, as pessoas podem
no relacionar essa presena com o design de uma forma direta. Mas quando a pessoa se depa-
rar com uma obra de arte, por exemplo, uma pintura ela pode parar, observar, interpretar do seu
modo e dizer: isso arte. O que impede de a mesma situao acontecer frente a um cartaz? O
qual pode conter elementos artsticos, para expressar beleza, alm de seus outros objetivos.
REFERNCIAS
ARGAN, Giulio. Histria da arte como histria da cidade. 4 ed. So Paulo: Martins Fontes, Julho de 1998.
AZEVEDO, Wilton. O que design. So Paulo: Editora Brasiliense, 1998.
BATTISTONI FILHO, Dulio. Pequena histria da arte. 5 ed. Campinas, SP: Papirus, 1993.
BAUMGART, Fritz. Breve histria da arte. So Paulo: Editora Martim Fontes, 1999.
BOSI, Alfredo, Reflexes sobre a arte. So Paulo: 7 ed. Editora tica, 2001
BRDEK, Bernhard E. Design, histria, teoria e prtica do design de produto. So Paulo: Editora Edgard,
2006.
CARDOSO, Rafael. Uma introduo histria do design. 1 ed., So Paulo: Editora Edgard Blcher Ltda, 2000.
COLI, Jorge, O que arte. 9 ed. So Paulo: Editora Brasiliense, 1988.
FISCHER, Ernest. A necessidade da arte. 9 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1987.
FUNK, Suzana. Compreendendo o design grfico. Erechim: Revista Voc, 2007, Pg 76.
GOMBRIC, E.H. A histria da arte. So Paulo: LTC Editora, 2000.
MIRANDA, Luciano. Ars communicandi: interfaces entre arte e comunicao. IN: POTRICH, Cilene Maria.;
QUEVEDO, Herclio Fraga de. Questes de Arte e Comunicao. Passo Fundo: UPF, 2003.
READ, Herbert. Arte y sociedad. Barcelona: Pennsula, 1977.
SANTOS, Maria das Graas Vieira Proena dos. Histria da arte. So Paulo: Editora tica, 2002.
VILLAS-BOAS, Andr. O que e o que nunca foi design grfico. 3 ed. Rio de Janeiro: 2 AB, 2000.
A INVESTIGAO DA LINGUAGEM URBANA: EXPRESSES
VISUAIS ESPONTNEAS
DRA. ANDRA DE S. ALMEIDA, DOUTORA EM CINCIAS DA COMUNICAO, CENTRO
UNIVERSITRIO SENAC
CI ANTEC
// 195 //
DRA. RITA DE CSSIA ALVES OLIVEIRA, DOUTORA EM ANTROPOLOGIA, CENTRO UNI-
VERSITRIO SENAC
Os jovens experimentam a cidade de modo prprio; convivem com as aglomeraes cotidiana-
mente e tm uma relao particular com as ruas e com a cidade. Esto em mobilidade constante e
nestas andanas vo se apropriando da cidade, deixando suas marcas por meio de suas tintas e
colagens. Os jovens so responsveis por boa parte da escritura da superfcie das cidades, e en-
chem nossos olhos com mensagens grficas dos graffitis, pixaes1 e stickers2. Frutos da vivncia
cotidiana, essas intervenes urbanas juvenis apresentam-nos formas, cores, texturas, contedos,
referncias, vises de mundo e universos imaginrios que compem esses discursos.
Esta investigao busca analisar alguns aspectos do design contemporneo a partir dos recortes
geracional e territorial definidos em relao cidade de So Paulo e s culturas juvenis; o objetivo
principal realizar um levantamento, diagnstico e anlise das intervenes urbanas em So
Paulo do ponto de vista das tcnicas, linguagens e suportes.
Do ponto de vista territorial foram selecionados alguns bairros das zonas sul (Jardim ngela e
So Luiz, Capo Redondo e Nakamura) e oeste (Lapa, Pinheiros, Vila Madalena e Perdizes da
cidade de So Paulo, regies de contraste com relao ao cotidiano e vida juvenil em relao
aos ndices de mortalidade, desemprego, capital cultural, opes de lazer e de educao. Nestes
bairros levou-se em considerao as vias de grande fluxo de veculos e pessoas (AUG, 1994;
MARTIN-BARBERO, 1998), locais (ruas e escolas) de concentrao juvenil e locais que notoria-
mente foram apropriados pelos jovens para suas intervenes urbanas (AUG, 1994).
O resultado um banco de imagens com cerca de 1000 imagens catalogadas e classificadas
que esto sendo analisadas a partir da base conceitual e metodologia construda durante os dois
anos da investigao.
Para anlise as fotografias foram codificadas a partir de um sistema composto por uma srie
de letras e nmeros para a catalogao das imagens que identifica as ruas, avenidas, escolas,
escadarias, etc, assim como as tcnicas e linguagens (graffiti, pixao, tag, sticker; spray, ltex,
giz etc) e suportes (muro, orelho, poste, semforo, etc) .
A pesquisa apontou uma linguagem de comunicao peculiar nas intervenes da cidade de So
Paulo, em especial os bairros que configuram a zona oeste nesse primeiro momento de levantamento.
So graffitis e pixaes com caractersticas especficas; observa-se traos diversificados e expresses
marcantes que possuem referncias artsticas. Linguagens que misturam tcnicas grficas como sten-
cil, colagem e uso de ilustraes distorcidas que lembram caricaturas, alm de contrastes cromticos
vibrantes. De forma geral, o graffiti, a pixao, o sticker e o lambe-lambe so comunicaes que retra-
tam um equilbrio visual plstico e em alguns casos se harmonizam no espao urbano.
Assim, refletir sobre o processo de execuo das linguagens urbanas em paralelo ao processo de
desenvolvimento do design fundamental para a anlise das influncias tanto de um lado como
do outro, pois nos dois casos h uma intencionalidade objetiva que se manifesta pela forma de
1 Na norma cul ta o termo pi xao encontrado com CH. Aqui , entretanto, optou-se pal a grafi a com X (pi xao) por ser
assi m que os j ovens a uti l i zam no seu coti di ano.
2 Street sti ckers, em i ngl s: adesi vos de papel ou vi ni l , de produo casei ra e i ndi vi dual que so espal hados pel as ruas
como forma de mani festao art sti ca anni ma e suti l .
CI ANTEC
// 196 //
comunicao. Nas linguagens urbanas, h uma expresso visual configurada por estrutura e estilo
visual decorrentes do executor, h um processo de trabalho encadeado e estudado, dependendo
da tcnica empregada. Por exemplo no caso do stencil, o desenho e sua mscara so produzidos
previamente e posteriormente vrias reprodues podem ser exploradas em situaes diferentes,
que muitas vezes muda totalmente a informao que est sendo passada pela linguagem grfi-
ca. Alm disso, o domnio do desenho fundamental para a rapidez na execuo em espaos
urbanos, principalmente quando se refere a locais privados ou vigiados, j que nesses casos, o
processo tem que ser direto e preciso.
A trajetria das linguagens urbanas est ligada a uma interveno para colorir e provocar rudos
visuais em metrpoles geralmente cinzas e racionais. O fato de serem efmeras e muitas vezes
consideradas marginais em nada prejudica a sua qualidade formal, muito pelo contrrio, observa-
se a construo de personagens no espao urbano que surgem de forma repentina e gratuita,
concretizando-se numa comunicao proveniente do movimento acelerado, distanciado e indivi-
dualista das metrpoles mundiais.
A cidade um espao onde convivem diversos tipos de comunicaes, cada uma com o seu
papel e sua relao de interao com as pessoas que nela habitam. As linguagens urbanas fa-
zem parte de um cdigo de interpretao e equilbrio visual que esto sempre em transformao
e movimento. Se no passado o graffiti era marginalizado, hoje passa a ser aceito por jovens que
nasceram e cresceram convivendo com estas paisagens. Assim, o graffiti alm de ser aceito nas
galerias, j construiu seu espao no ambiente urbano, uma referncia para as comunicaes
dirigidas ao mercado juvenil, da publicidade a moda, passando pelo cinema, televiso e o mer-
cado editorial. Os graffitis que permanecem por algum tempo em exposio, passam a fazer
parte de uma referncia de sinalizao do espao em que esto inseridos, nesse sentido, im-
portante observar a contribuio funcional que legitima o graffiti na cidade. Da mesma forma que
alguns grafiteiros utilizam linguagens formais decorrentes da comunicao visual intencional,
os designers grficos esto buscando
nas linguagens urbanas, um cdigo de
comunicao pertencente ao compor-
tamento do jovem na cidade.
ZONA_ENDEREO_LINGUAGEM_
SUPORTE_TCNICA_FOTOGRAFO_
NUMERAO _
IMAGEM 01: ZO_4_P_13_S_AG_ 0001
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS:
AUG, Marc. No-lugares: introduo a uma antropologia da supermodernidade. Campinas: Papirus, 1994.
CERTEAU, Michel. A cultura no plural. Campinas: Papirus, 1995.
FERRARA, Lucrcia DAlessio. Olhar perifrico: informao, percepo ambiental. So Paulo: Editora da Uni-
versidade de So Paulo, 1993.
CI ANTEC
// 197 //
FORGHIERI, Yolanda Cintro. Psicologia fenomenolgica: fundamentos, mtodos e pesquisa. So Paulo: Pio-
neira Thomson Learning, 2002.
GITAHY, Celso. O que grafiti. So Paulo: Ed. Brasiliense, 1999.
MAGNANI, Jos Guilherme Cantor; SOUZA, Bruna Mantese. Jovens na metrpole: etnografias de circuitos de
lazer, encontro e sociabilidade. So Paulo: Terceiro Nome, 2007.
MARGULIS, Mario e URRESTI, Marcelo. La construcion social de la condicin de juventud. In: Cubides, Hum-
berto J. et. al. (org.). Viviendo a toda: jovenes, territrios culturales e nuevas sensibilidades. Bogot: Siglo del
Hombre/Diuc Universidade Central, 1998. p. 3-21.
MARTN-BARBERO, Jess. Jvenes: des-orden cultural y palimpsestos de identidad. In: Cubides, Humberto J.;
Toscano, Maria C. L.; Valderrama, Carlos E. H. (Orgs.). Viviendo a toda: jovenes, territrios culturales y nuevas
sensibilidades. Bogot: Siglo del Hombre/Diuc, 1998.
VARGAS, Milton. Metodologia da pesquisa tecnolgica. Rio de Janeiro: Globo, 1985.
Imagem do Pesquisador Adriano Grant
A MODIFICAO DE JOGOS ELETRNICOS POR PARTE
DE SEUS USURIOS: DE EXPERIMENTAES ARTSTICAS
AO POLTICA
ANDREI R. THOMAZ
Como todo objeto cultural, os jogos eletrnicos trazem consigo valores, idias e at mesmo pre-
conceitos embutidos em suas regras e mecnicas, assim como em seus elementos grficos e
sonoros. Por outro lado, de acordo com Schleiner (2005, 408) diversas empresas de jogos per-
ceberam que dar aos jogadores a chance de modificarem os seus produtos mais do que uma
boa estratgia de marketing; tambm um modo de ter um laboratrio de pesquisa de jogos,
permitindo a elas ter mais dados sobre os desejos de seus consumidores.
Estes dois fenmenos a compreenso dos jogos eletrnicos como objetos culturais, e a mo-
dificao de jogos eletrnicos por parte de seus usurios - esto por trs de muitos trabalhos
de arte eletrnica, criados com base na modificao de games desenvolvidos comercialmente.
Neste trabalho, vamos nos concentrar na parcela desta produo artstica que opta por preservar
a mecnica e o funcionamento originais de um jogo, mas que altera os seus elementos diegticos.
Por elementos diegticos entendemos os elementos que fazem parte da sua narrativa, tais como
personagens, dilogos e textos. Esta anlise nos permitir constatar que muitos destes trabalhos
realizam uma crtica (seja de ordem poltica, de gnero ou de outro tipo) em relao ao universo
dos jogos eletrnicos desenvolvidos pela indstria de games.
I shot Andy Warhol, de Cory Arcangel, consiste numa modificao do jogo Hogans Alley, lanado
pela Nintendo em 19843. O nome original do jogo faz uma aluso a um exerccio de treinamento
do FBI, em que so mostradas silhuetas de papelo para um recruta. Este deve atirar nos alvos
identificados como criminosos, sem acertar nos inocentes. O jogo tambm foi um dos primeiros
da Nintendo a utilizar uma espcie de pistola como dispositivo de interao, no lugar do joystick.
3 Todas as i nformaes sobre o j ogo Hogan s Al l ey so ori gi nri as da Wi ki pedi a (http://en.wi ki pedi a.org/wi ki /Hogan s_Al -
l ey_(arcade_game)), vi si tada em 16/03/2008.
CI ANTEC
// 198 //
Para realizar I shot Andy Warhol, Cory Arcangel, que tem se destacado pelo uso do hacking como
procedimento principal na realizao de seus trabalhos, alterou os grficos do jogo, preservando o
seu funcionamento. Ele trocou os alvos originais do jogo por diversos personagens (entre eles, o
Papa), alm do artista plstico Andy Warhol, fazendo uma referncia ao atentado sofrido pelo artista
em 1968 e que o tema do filme homnimo de Mary Harron, lanado em 1996.
Se em I shot Andy Warhol encontramos o uso do humor, podemos encontrar elementos de crtica
poltica em Espace from Woomera e Special Force. Escape from Woomera4 foi produzido por
uma equipe de artistas e tcnicos australianos e uma modificao do first person shooter Half-
Life, onde o jogador se v no papel de um imigrante, tentando escapar do centro de deteno
da cidade de Woomera. Este centro foi construdo pelo governo australiano com a finalidade de
receber imigrantes ilegais, e foi fechado em 2003 ( importante lembrar que o governo austra-
liano manter outros centros de deteno destinados aos imigrantes ilegais, que continuam em
funcionamento)5.
J Special Force uma alterao de jogo eletrnico que est fora do escopo da game art. Entre-
tanto, consideramos pertinente cit-la aqui por ela constituir um caso radical de apropriao da
tecnologia por um grupo que, em princpio, est s margens do desenvolvimento tecnolgico.
Special Force foi produzido pelo grupo xiita libans Hezbollah, classificado por diversos gover-
nos ocidentais como um grupo terrorista, e atualmente encontra-se na sua segunda verso. Ele
foi desenvolvido a partir do engine 3d Genesis 3D, distribudo como open source no site http://
www.genesis3d.com/, e assim como Escape from Woomera, tambm pertence ao gnero dos
first person shooters. Nele, o jogador encarna personagens rabes, cujo objetivo atacar tropas
israelenses (SALEH, 2008).
No podemos deixar de perceber que os programadores do Hezbollah colocaram em prtica o de-
senvolvimento de jogos a partir de bibliotecas distribudas sob o regime open source, tal como pro-
posto pelo artista Julian Oliver (que esteve na equipe desenvolvedora de Escape from Woomera) ao
discorrer sobre as dificuldades de desenvolver um jogo eletrnico com uma equipe pequena e um
baixo oramento: medida que as ferramentas necessrias para criar jogos se tornam mais caras,
a possibilidade de criar universos novos e nicos, no caso de equipes pequenas, diminui. (...) Se ns
desejamos explorar outros tipos de mundos, outros tipos de jogos, ento o movimento open source
nos ajudar muito. Eu acredito que o oramento do desenvolvimento de um jogo seja gasto em seres
humanos, no na compra de software de terceiros. (REYNOLDS, 2007. Traduo nossa).
Ao fazerem uso de jogos eletrnicos para exercerem uma crtica poltica, tanto os autores de
Escape from Woomera quanto de Special Force revelam que um jogocontm, de formas mais ou
menos explcitas, valores e ideologias embutidas em suas narrativas, dinmicas e personagens,
pois so estes os elementos que eles alteram. Por outro lado, consideramos pertinente citar o
trabalho I shot Andy Warhol lembrar que a modificao de jogos no se atm, exclusivamente, a
questes de ordem poltica.
4 Para uma anl i se detal hada de Escape from Woomera, ver Stal ker (2005, pp. 52-69).
5 Informaes sobre o centro de deteno de Woomera di spon vei s no si te do proj eto Escape from Woomera (http://
www.sel ectparks.net/archi ve/escapefromwoomera/about.htm, vi si tado em 17/03/2008), Wi ki pedi a (http://en.wi ki pedi a.
org/wi ki /Woomera_IRPC, vi si tado em 17/03/2008), e no rel atri o The i mpact of i ndefi ni te detenti on: the case to change
Austral i a s mandatory detenti on regi me, di spon vel no si te da Ani sti a Internaci onal (http://www.amnesty.org/en/l i brary/asset/
ASA12/001/2005/en/2223ce60-a2e3-11dc-8d74-6f45f39984e5/asa120012005en.html , vi si tado em 17/03/2008).
CI ANTEC
// 199 //
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
CANNON, Rebecca. An introduction to game mod art. Disponvel via WWW em http://www.beepkeeper.com/
rebecca/?2003:Playthings. Visitado em 18/03/2008.
HOGANS Alley. Disponvel via WWW em http://en.wikipedia.org/wiki/Hogans_Alley_(arcade_game). Visitado
em 16/03/2008.
SCHLEINER, Anne-Marie. Game reconstruction workshop: demolishing and evolving PC games and gamer
culture. In: RAESSENS, Joost; GOLDSTEIN, Jeffrey (ed.). Handbook of computer game studies. Cambridge,
Massachussets; London : The MIT Press, 2005. pp. 405-414.
REYNOLDS, Ren. TN Interviews: Julian Oliver. Disponvel via WWW em http://terranova.blogs.com/terra_
nova/2004/09/tn_interviews_j.html. Visitado em 5/3/2007.
SALEH, Tariq. Videogame do Hezbollah simula guerra contra Israel. Disponvel via WWW em
http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2007/08/070821_hezbollahjogo_ts_ac.shtml. Visitado em
17/03/2008.
STALKER, Phillipa Jane. Gaming in Art: a case study of two examples of the artistica appropriation of com-
puter games and the mapping of historical trajectories of art games versus mainstream computer games. 2005.
97p. Dissertao (Master of Fine Arts) University of the Witwatersrand, Johannesburg, 1995. Disponvel via
WWW url http://www.selectparks.net/dl/PippaStalker_GamingInArt.pdf. Acesso em 18/03/2008.
FABRICAO DIGITAL DE MAQUETES FSICAS: O USO
DE CORTADORA A LASER
ANA TAGLIARI, IA UNICAMP / MACKENZIE, ARQUITETA E MESTRE EM ARTES
WILSON FLORIO, IA UNICAMP / MACKENZIE, ARQUITETO E DOUTOR EM ARQUITETURA E
URBANISMO
RESUMO // As recentes pesquisas realizadas a respeito da fabricao digital de maquetes tm reno-
vado o interesse a respeito dos diversos meios de representao e simulao em arquitetura. Nesse
mbito esto os prottipos rpidos (PRs), que cumprem o papel de traduzir arquivos CAD 3D em
modelos fsicos. A materializao de projetos por meio de PRs torna mais tangvel a compreenso
da proposta arquitetnica. O objetivo deste artigo relatar alguns experimentos realizados pelos
autores na produo de maquetes a partir de desenhos e modelos geomtricos digitais.
Os PRs podem ser obtidos a partir de trs tipos de processos: as cortadoras, por subtrao de
material e adio de material. O primeiro grupo abarca as cortadoras a laser, a jato de gua e
de vinil. No presente artigo so relatados os experimentos realizados com o auxlio da Cortadora
Universal Laser Systems X-660.
Este processo de prototipagem rpida requer a preparao de desenhos bidimensionais para
construir modelos tridimensionais. Os desenhos em CAD devem ser planificados j prevendo pos-
sveis encaixes para posterior montagem tridimensional. Embora estas cortadoras a laser possam
cortar diversos materiais, foi utilizado nos experimentos apenas papel madeira de 1 mm para testar
vantagens e desvantagens deste processo e algumas limitaes na produo de artefatos fsicos
de projetos de arquitetura.
CI ANTEC
// 200 //
O artigo contm uma breve sntese de alguns estudos j realizados por outros autores, inserindo os
PRs no processo de projeto. Em seguida apresentada a experincia na produo de PRs dos au-
tores e o relato, pormenorizado, das etapas de preparao e de fabricao de diferentes edifcios,
utilizando para isso a cortadora a laser.
O desenho das elevaes dos edifcios foi realizado no programa AutoCAD. O arquivo enviado
para a cortadora a laser segue uma configurao similar a de uma plotagem. A diferena est no
fato de que no lugar de configurar as espessuras das penas, configura-se a potncia com que o
laser ir atingir o suporte, permitindo que o mesmo seja vincado ou cortado. Nos experimentos
realizados foi determinado que as componentes do edifcio fossem cortados no papel, que possui
uma espessura compatvel com a escala pretendida e pela facilidade de dobrar e colar, propician-
do ao mesmo tempo a rigidez necessria para a montagem do modelo volumtrico.
Os resultados obtidos at o presente momento permitem afirmar que apesar de limitaes em sua
fabricao, os PRs obtidos por corte a laser contribuem para melhorar substancialmente a inter-
pretao e compreenso de projetos em arquitetura, particularmente de detalhes de elementos
construtivos. As restries observadas dizem respeito escala do artefato, a bidimensionalidade
dos desenhos e dimenses da rea de corte.
PALAVRAS-CHAVE // Prototipagem Rpida; Fabricao Digital; Processo de Projeto; Corte a laser;
Maquete.
---- Recent researches relating to digital manufacture of physical model have renewed the interest
concerning the diverse ways of representation and simulation in architecture. In this issue the
rapid prototyping (RPs), which fulfill the role of translating 3D CAD file in physical model. The
materialization of projects by RPs becomes the understanding of the architectural proposal more
tangible. The aim of this article is to report some experiments carried out by the authors in the
production of models from drawings and digital geometric models. The RPs can be gotten from
three types of processes: by cutting, by subtraction of material and addition of material. The first
group encloses the laser cutting, the vinyl and water jet. In the present article the related experi-
ments were made with the Universal Cutting Laser Systems X-660. This rapid prototyping process
requires the preparation of two-dimensional drawings to construct three-dimensional models. The
CAD drawings must be designed already foreseeing possible rabbets for later three-dimensional
assembly. Although these laser machines can cut different materials, in the related experiment
only a kind of paper (1 mm wood paper) had been used to test advantages and disadvantages
of this process and some limitations in the production of physical artifact of architecture projects.
The article contains a brief synthesis of some studies already done by other authors, inserting the
RPs in the project process. After that the experience in the production of RPs of the authors and a
detailed report of the stages of preparation and manufacture of different buildings using the laser
cutting is presented. The elevations drawings were made in the software AutoCad. The file sent to
the laser cut machine follows a similar configuration to plotter drawing. The difference is in the fact
that instead of configuring the pen thicknesses, it is configured the powerful with the laser will reach
the support, allowing that the same it is wrinkled or cut. In the experiments it was determined that the
CI ANTEC
// 201 //
components of the building were cut in the paper, which has a compatible thickness with the intended
scale and for the easiness to fold and glue, propitiating at the same time the necessary rigidity for
the assembly of the volumetric model. Until the present moment the obtained results allow to affirm
that although limitations in its manufacture, the RPs achieved by laser cut contribute substantially
to improve the interpretation and understanding of projects in architecture, particularly of details
of constructive elements. The observed restrictions are related to the scale of the model, the two-
dimensionality of the drawings and dimensions of the cut area.
KEY-WORDS// Rapid Prototyping; Digital Fabrication; Design Process; Laser Cut; Physical Model.
Recentes pesquisas realizadas sobre fabricao digital de maquetes tm renovado o interesse a res-
peito dos diversos meios de representao e simulao em arquitetura. Na Universidade Mackenzie, o
grupo de pesquisa liderado por um dos autores tem conduzido pesquisas a respeito de prototipagem
rpida desde 2007 (FLORIO, SEGALL & ARAUJO, 2007). Na UNICAMP, o grupo de pesquisa liderado
pela professora Gabriela Celani tem realizado importantes pesquisas no LAPAC. No mbito interna-
cional h pesquisadores voltados rea de arquitetura (GIANNATSIS, 2002; GIBSON, 2002; RYDER,
2002; SIMONDETTI, 2002; WANG & DUARTE, 2002; BREEN, 2003; KAI, 2003; SEELY, 2004).
A representao fsica de um modelo digital fundamental para a correta avaliao do projeto
de arquitetura, pois permite materializ-la (FLORIO, SEGALL & ARAUJO, 2007). Nesse mbito
esto os prottipos rpidos (PRs), que cumprem o papel de traduzir arquivos CAD 3D em mode-
los fsicos. A materializao de projetos por meio de PRs torna mais tangvel a compreenso da
proposta arquitetnica.
Os PRs podem ser obtidos a partir de trs tipos de processos: as cortadoras, por subtrao de
material e adio de material. O primeiro grupo abarca as cortadoras a laser, a jato de gua e
de vinil. No processo subtrativo o modelo esculpido a partir de remoo de material por meio
de ferramentas em mquinas por controle numrico (CNC). No processo aditivo so adicionadas
camadas de matria, normalmente resinas. Assim, PRs so convenientes para a fabricao tanto
de elementos regulares como complexos, sobretudo na fabricao de formas irregulares, de
difcil confeco manual. No presente artigo relatado os experimentos realizados com o auxlio
da Cortadora Universal Laser Systems X-660.
Embora eles normalmente tenham uma funo puramente representativa, os PRs so altamente
atraentes para experimentar alteraes no projeto durante sua concepo. Isso ocorre porque
as mudanas nos prottipos virtuais podem ser rapidamente transmitidas para novos prottipos
rpidos, especialmente com o objetivo de avaliar e comparar propostas. Em arquitetura os PRs
servem tanto para a testar, compreender, sintetizar e avaliar a proposta arquitetnica, em seus
mltiplos aspectos, como para comunicar facilmente as intenes projetuais. O objetivo deste ar-
tigo relatar alguns experimentos realizados pelos autores na produo de maquetes a partir de
desenhos digitais.
A presente pesquisa teve origem nas anlises de residncias do arquiteto norte-americano Frank
Lloyd Wright (TAGLIARI, 2008). Para a fabricao digital foram selecionadas 8 residncias da fase
denominada usonian houses.
CI ANTEC
// 202 //
O processo de corte a laser requer a preparao de desenhos bidimensionais para construir mo-
delos tridimensionais. Assim, iniciou-se com o desenho de todas as elevaes de cada residncia
no programa AutoCAD. Como a cortadora a laser permite frisar ou cortar os materiais, os desenhos
foram divididos em duas camadas (layers). A de cor vermelha indica quais as partes que seriam
frisadas (figura 1). A de cor amarela para indicar quais as linhas que seriam cortadas. Nas resi-
dncias analisadas os frisos nas elevaes correspondiam modulao das tbuas de madeira
e no caso da planta sua modulao, a indicao da localizao das paredes e aberturas, como
indicao para posterior montagem.
As elevaes e plantas foram inseridas e diagramadas em uma folha de papel madeira tamanho
A1, que corresponde ao mximo da rea de trabalho na mquina (figura 1).
O arquivo enviado para a cortadora a laser segue uma configurao similar a de uma plotagem.
No entanto, ao invs de configurar as espessuras das penas, configura-se a potncia com que
o laser ir atingir o suporte, permitindo que o mesmo seja vincado ou cortado. O papel utilizado
possui uma espessura compatvel com a escala pretendida, 1:100 e propiciou a rigidez necess-
ria para a montagem do modelo volumtrico.
O tempo de execuo em mdia foi de 10 minutos. O tempo varia de acordo com o nmero de
entidades a serem frisados e/ou cortadas. O que determina se o laser ir cortar ou vincar a
potncia do raio laser. A velocidade tambm depende do tipo de material.
Observou-se que os vincos, por serem superficiais, ficaram menos chamuscados que as reas
de corte. Os cortes so muito precisos, mesmo em peas de tamanho reduzido (figura 2). Pode-
se executar detalhes e pormenores com bastante preciso, o que facilita enormemente o trabalho
de criao de maquetes fsicas.
Antes da montagem tomou-se o cuidado de manter as peas cortadas correspondentes a cada
elevao separadas (figura 2), pois se fossem misturadas incorreria na difcil tarefa de verificar e
separar pea por pea e sua localizao.
A seqncia de fotos mostra a montagem, passo a passo (figura 2 e 3). As elevaes foram
montadas sequencialmente. As pequenas peas foram coladas umas s outras com cola branca.
Durante a montagem notou-se que algumas peas estavam empenadas, dificultando a justaposi-
o com as outras peas. No caso de papel madeira aconselha-se no deix-lo receber umidade,
pois acarreta em deformaes, difceis de serem corrigidas. O tempo de montagem das maquetes
varia entre 2 e 3 horas, e depende fundamentalmente da escala, do nmero total de componentes,
da fragilidade dos mesmos e da atenta observao dos detalhes do edifcio. Algumas peas ficam
chamuscadas nas reas de corte, especialmente devido manuseio incorreto do papel madeira que
com ondulaes prejudica o corte perfeito. No entanto, acelera o processo de corte e montagem de
maquetes. Assim, recomenda-se um acabamento manual para maquetes de apresentao.
Os resultados obtidos at o presente momento permitem afirmar que apesar de limitaes em
sua fabricao, os PRs obtidos por corte a laser contribuem para melhorar substancialmente a
interpretao e compreenso de projetos em arquitetura, particularmente de detalhes de elementos
construtivos. As restries observadas dizem respeito escala do artefato, a bidimensionalidade
dos desenhos e dimenses da rea de corte.
CI ANTEC
// 203 //
FIGURA 1: DESENHO
NO AUTOCAD; FOTOS
DA EXECUO. FONTE:
TAGLIARI & FLORIO,
2008.
FIGURA 2: MONTAGEM SEQENCIAL DAS
ELEVAES NA MAQUETE. FONTE: TAGLIARI &
FLORIO, 2008.
FIGURA 3: FOTOS DO RESULTADO OBTIDO EM UMA
DAS RESIDNCIAS. FONTE: TAGLIARI & FLORIO,
2008.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BREEN, Jack. et. al. Tangible virtuality perceptions of computer-aided and physical modeling. Automation
in Construction, pp. 649-653, v.12, 2003.
KAI, Chua C. et al. Rapid Prototyping: Principles and Applications. Singapore: World Scientific Publishing, 2003.
FLORIO, Wilson; SEGALL, Mario L.; ARAUJO, Nieri S. A Contribuio dos Prottipos Rpidos no Processo
de Projeto em Arquitetura. In: Anais do GRAPHICA 2007. Curitiba, 2007.
GIANNATSIS, J. et. al. Architectural scale modeling using stereolithography. Rapid Prototyping Journal, pp.
200-207, v. 8, n 3, 2002.
GIBSON, Ian. et. al. Rapid prototyping for architectural models. Rapid Prototyping Journal, pp. 91-99, v. 8,
n 2, 2002.
RYDER, Gerald. et al. Rapid design and manufacture tools in architecture. Automation in Construction, pp.
279-290, v. 11, 2002.
SEELY, Jennifer. C. K. Digital Fabrication in the Architectural Design Process. Master Science Architecture
Studies, Massachusetts Institute of Technology, MIT, 2004. 77p.
SIMONDETTI, Alvise. Computer-generated physical modeling in the early stages of the design process. Automa-
tion in construction, pp. 303-311, v. 11, 2002.
TAGLIARI, Ana M. Os Princpios Orgnicos na Obra de Frank Lloyd Wright: uma abordagem grfica de exem-
plares residenciais. Dissertao de Mestrado. Instituto de Artes, Universidade Estadual de Campinas (IA/UNI-
CAMP), 2008.
WANG Yufei e DUARTE, Jos P. Automated generation and fabrication of designs. Automation in Construction,
pp. 291-302, v. 11, 2002.
CI ANTEC
// 204 //
SUJEITOS NO ESPAO GLOBAL E LOCAL
DINA MARIA MARTINS FERREIRA - PS-DOUTORA EM PRAGMTICA PELA IEL/UNICAMP,
DOUTORA PELA UFRJ E MESTRE PELA PUC/RJ. PESQUISADORA E DOCENTE DO CENTRO DE
COMUNICAO E LETRAS, MACKENZIE
Esta reflexo oferta uma teia de subjetivaes que se processam na relao entre sujeitos e espa-
os em que habitam. Os espaos so tratados como modalizadores de sujeitos, cujos processos
de subjetivao so condicionados pela esfera da globalizao e localidade.
Na dimenso do da globalizao e o da localidade, em que territrios geogrficos se delineiam.
Giddens (2003) discute em sua obra a problemtica dos sujeitos em relao ao fenmeno da
globalizao:
A globalizao est reestruturando o modo como vivemos, e de uma ma-
neira muito profunda. [...] A globalizao influencia a vida cotidiana, tanto
quanto eventos que ocorrem numa escala global. [...] Eles contribuem para
o estresse e as tenses que afetam os modos de vida e as culturas tradicio-
nais na maior parte das regies do mundo (GIDDENS, 2003, p. 15-16).
Conceituar globalizao muito difcil devido a uso excessivo em mltiplas situaes, o que at
nos leva questo da banalizao da complexidade de seus efeitos. O nico elemento concreto
que temos em nossa vivncia a de que a globalizao revolucionou o nosso dia-a-dia. Os
cticos abordam globalizao como mera conversa de corredor: sejam quais forem seus be-
nefcios, seus percalos e tribulaes, a economia global no especialmente diferente da que
existiu em perodos anteriores (GIDDENS, 2003, p.18). Os radicais tomam posio completa-
mente polar, ao sustentar que no s a globalizao muito real, como que suas conseqncias
podem ser sentidas em toda parte (ibidem, p.19), afirmando inclusive que no h mais Estados
e que o mundo uma coisa s, uma aldeia global (MCLUHAN, 1969), eliminando, assim, qual-
quer construo de identidade local.
Na teia da globalizao, sem dvida, somos forosamente injetados, espao que temos dificulda-
de de processar, j que no temos o distanciamento histrico para analis-lo com objetividade.
Mas, com certeza, no apenas um fenmeno econmico j que se verificam influncias sociais
e culturais: globalizao poltica, tecnolgica e cultural, tanto quanto econmica. Foi influen-
ciada acima de tudo por desenvolvimentos nos sistemas de comunicao que remontam apenas
ao final da dcada de 1960 (GIDDENS, 2003, p.21).
Localidade territorial e globalizao extra-territorial. O espao territorial adere geografia e,
como indica a etimologia, a traos (grafos) em torno da terra (geo), ou seja, linhas que se fecham
em fronteira. O espao extra-territorial no deixa de caracterizar um espao, mas um espao dis-
solvido, j que suas linhas fronteirias se alargam de tal forma que se rompem; no espao global
no se consegue visualizar linhas, mas pontos de linhas, que ora se unem, ora se alargam, ora se
dissolvem. Se quisssemos fazer uma metfora com o processo da consistncia da gua, para fins
pragmticos, poderamos dizer que o espao territorializado seria o gelo, um espao duro em que
se percebem seus limites, mas que, diante da temperatura contextual (fatores econmicos, sociais e
CI ANTEC
// 205 //
culturais), comea a se dissolver e a se espalhar; sabemos que um poa de gua ocupa um espao,
mas no conseguimos formalizar uma medio de seus contornos.
Bauman (1999, p.16) d ao espao da globalizao o atributo de lugar da mobilidade adquirida
por pessoas que investem, logo estamos na rea do poder, pois s quem tem poder pode investir
e quem investe tem voz na sociedade. O ciberespao o lugar em que o sujeito atua pela voz do
poder, seu corpo localizado dispensvel na atuao do poder global. Em contrapartida, localida-
de poderia ser entendida como o local do confinamento, j que os corpos que ali habitam transitam
apertados nas linhas territoriais. Nessa relao de poder entre os espaos, no h como negar o
poder da mobilidade; por exemplo, um empresrio muda a esfera de atuao de sua empresa via
espao global, e na localidade ficam os funcionrios abandonados ao desemprego. Sem dvida,
uma relao a que j assistimos ou, pelo menos, j ouvimos falar.
Saindo de uma discusso hierrquica de poder econmico entre localidade e globalizao, outro
foco est na relao de localidade e globalizao enfronhada no cotidiano do sujeito. Um exemplo
banal e corriqueiro: um sujeito que quer entrar no ciberespao est obrigatoriamente frente da
mquina do computador localidade , cuja ao na linguagem da informtica vai permitir sua
entrada para o global; no entanto, o local tem poder, pois o funcionamento da mquina depende
de instrumentos locais, que, no funcionando resultam no fracasso da conexo: fio mal instalado,
provedor sobrecarregado, programa mal instalado e assim por diante. A presena da localidade
no global , de alguma forma, muito forte, at porque a ao global atua sobre a localidade, tal
como juros altos em determinada geografia que sofre conseqncias de uma deciso poltica
global. Se o sujeito performatiza em localidade, mesmo que esteja navegando no ciberespa-
o, a globalizao no detm o total poder como os ortodoxos pleiteiam. Globalizao rompe,
esgara; decises globalizantes podem modificar rapidamente uma histria local, seguida de
outras modificaes to mais rpida que essa. Ratificamos a relao hierrquica entre localidade
e globalizao, em que os espaos interagem condicionados pelo poder global, no entanto os
espaos no se excluem, como propem os radicais.
Para melhor entender a subjetivao na relao global e local, vamos nos utilizar de uma tem-
tica, muito em voga atualmente no governo brasileiro, combate fome. Lula est em Davos, em
discurso com os poderosos G8, tentando combater a fome mundial. Pergunto se essa discusso
em nvel global elimina a sensao da fome que est ocorrendo na localidade. A fome sentida est
na localidade, uma localidade Brasil, em Dourados (MS), onde crianas
ndias esto morrendo. Essas crianas sentem fome em sua localidade,
ou seja, o sensvel humano est na localidade, apenas a descrio da
fome pode transitar no global (FERREIRA, 2006).
Imagens, difundidas por veculo de comunicao de massa jornalstica,
ilustram bem a separao e a unio entre os dois espaos.
FIGURA 1 FOTO: HUDSON CORREIA/FOLHA IMAGEM
CI ANTEC
// 206 //
A imagem representa o sensvel da fome e seus efeitos, ela representa a fome dos ndios locali-
zados no municpio de Dourados (Mato Grosso do Sul/Brasil): uma criana ndia, pequena, com
roupas rasgadas, de costas no colo de uma enfermeira, braos muito finos, cabelos ralos e des-
penteados, sendo cuidada em um ambulatrio. A divulgao da imagem pode at ser global, mas
no s a representao imagtica da fome local (Dourados), mas tambm o sensvel da fome (a
fome da criana).
J a charge, a seguir, mostra que no espao global no h possibilidade da sensao da fome.
Primeiro, o poder no sente fome, questo que no faz parte de seu dia-a-dia. Segundo, o frag-
mento verbal Lula leva a fome cpula de Evian no indica que em Davos se sente fome, a
fome apenas pauta de reunio. A funo crtica da charge justamente confirma tal questo: o
espanto de um lder presidencial de s ter gua como servio. No espao global, que a charge
representa, encontram-se dois tpicos que, justamente,
caracterizam a ausncia do sensvel: fome a temtica
da reunio e no a sensao de fome, tanto que um dos
lderes gordo, com o palet do terno apertado diante
da barriga grande de quem come e no sente fome; e o
globo terrestre, na parte de cima da figura, que figu-
rado vazio de movimentao de sujeitos e de fronteiras,
indicador de que ali est a cpula vozes de poder que
no fazem parte de um confinamento local.
FIGURA 2 CHARGE, ANGELI, FOLHA DE SO PAULO
Pontuar os espaos localidade e globalizao em temas
do cotidiano humano se faz muitas vezes opaco, pois classificar espaos diante das sensaes
mais bsicas do ser humano, comer e matar a fome, se tornam sem relevncia.
E pela busca de subjetivaes, seja nos espaos do global e do local, talvez encon-
tremos um recurso de entendimento dos processos condicionantes do espao no homem que o
habita!
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BAUMAN, Symunt. Globalizao e as conseqncias humanas. Rio de Janeiro: Zahar, 1999.
FERREIRA, Dina Maria Martins. No pense, veja o espetculo da linguagem no palco do Fome Zero. So
Paulo: Annablume/FAPESP, 2006
GIDDENS, Anthony. Mundo em descontrole o que a globalizao est fazendo de ns. Rio de Janeiro/;So
Paulo: Re4cord, 2003.
MCLUHAN, Marshall. Communication in the Global Village. In: TOPPIN, Don (Ed.). This Cybernetic Age. New
York: Human Development Corporation, 1969, pp.158-167.
CI ANTEC
// 207 //
A MSICA E A TECNOLOGIA PARA UM BANCO DE DADOS
MUSICAL
DR. EDWIN PITRE-VSQUEZ - DEPARTAMENTO DE MSICA
PALAVRAS CHAVES //1. Msica-tecnologia 2. Banco de dados - Msica 3. Distribuio de contedos -
Msica 4. Acessibilidade digital-Msica 5. Panam -Msica
O objeto central deste artigo apresentar um modelo experimental de plataforma interativa virtual
que permita disponibilizar e distribuir atravs do ciberespao contedos musicais para a transfe-
rncia de saberes populares e acadmicos das diferentes comunidades. Em uma primeira etapa
ser disponibilizado a partir de um prottipo, particularmente da msica panamenha cmbia,
objeto da pesquisa de Doutorado de Edwin Vsquez, onde se constata que o acesso a informa-
es e material didtico dessa natureza no estava acessvel.
Pode-se considerar que a distribuio de contedos nas redes internet muito ampla e diversifi-
cada, chegando a ser excessiva. Muitas vezes o usurio que no possui recursos para discernir
e selecionar com certa habilidade o que procura pode se perder nesta emaranhada trama de
possibilidades. Com a criao de critrios e acessos direcionados a assuntos especficos, a partir
de tesauros e taxonomias especificas, estes mesmos usurios podem concentrar maior ateno e
obter um melhor aproveitamento dos contedos, utilizando-os para o ensino fundamental e bsico.
Para tal finalidade, o usurio da primeira idade ter disponibilizado ferramentas e treinamento
especfico. No se trata de encaixotar a principal caracterstica da rede mundial de computado-
res, porm de construir pontes que permitiro atalhos
para assuntos especficos.
A utilizao desta tecnologia tem como objetivo
bsico, disponibilizar a distribuio de contedos
musicais atravs dos sistemas interativos e multimi-
dticos.
BANCO DE DADOS PARA MSICA (PITRE-VSQUEZ, 2008, PP. 147)
Isto permitir que atravs dos recursos tecnolgicos
existentes como computadores, sites, tecnologia wire-less, a populao do ensino bsico e funda-
mental tenha acesso aos contedos locais atravs da msica.
A idia criar um software livre que execute programas como Second Life ou plataformas como
Wikipedia onde o usurio possa interagir com os contedos, possibilitando a interatividade6 e, por
meio desta, poder atualizar permanentemente o banco de dados atravs da Internet.
As pesquisas que envolvem a educao e cultura na Amrica Latina se converteram em prioridades
nos mais diferentes pases, passando a ocupar lugar de destaque nos tempos da globalizao onde
as questes que passam pelas identidades em acomodao7 sofrem mudanas importantes.
6 Adotamos aqui os concei tos de i nterati vi dades de LEVY, 1987.
7 Defi ni das como i denti dades da Ps-moderni dade, que se revel am e assumem posturas de suas comuni dades ori gi nai s.
PITRE-VSQUEZ, 2008, pp. 31.
CI ANTEC
// 208 //
H uma necessidade de produzir pesquisas capazes de gerarem contedos que estejam prximos
de cada localidade, uma vez que estas ganharam importncia e requerem que os diferentes sabe-
res sejam integrados atravs de recursos tecnolgicos capazes de traduzir de maneira dinmica
esses saberes, e a Web talvez seja o mais importante deles
8
.
A evoluo, tanto no campo tcnico, como dos estudos culturais indica que j existem elementos
suficientes que podem ser colocados em suportes e plataformas ciber buscando a democratiza-
o e garantindo a acessibilidade dos contedos de uma maneira fcil e organizada. O ensino a
distncia, ou e-learning uma realidade. Esta nova modalidade educacional faz parte de muitas
institucionais pblicas e privadas no continente e no mundo, particularmente, no Brasil e no
Panam. Entende-se assim, que a produo de contedos culturais, atravs da msica, poder
contribuir para uma melhor formao da populao que no estejam, por algum motivo, perto
dos grandes centros onde o ensino ocorre de maneira presencial. As possibilidades encon-
tradas hoje nos ambientes multimdia interativos so absolutamente inovadoras em todas as
reas do conhecimento, e sua utilizao dentro do ensino musical revela uma enorme srie de
possibilidades
9
.
Com o surgimento quantitativo e qualitativo de novas tecnologias o acesso foi facilitado. Pases da Am-
rica Latina, como o Brasil, possuem projetos de investigao h vrios anos na rea tecnolgica focados
em aumentar o acesso e a melhor utilizao tanto de equipamentos como dos seus contedos.
Por outro lado, um pas como o Panam , com a possibilidade de ter acesso a equipamentos de
ltima gerao, porm com pouca capacitao para a sua utilizao, no tem acesso aos con-
tedos importantes que contemplam as questes educacionais e culturais locais. A partir dessa
necessidade surgiu a hiptese de criar um projeto binacional que possa se futuramente ampliado
a outros pases, no qual possam ser produzidos contedos educacionais e culturais, a partir da
msica para atender essa demanda no campo de formao de recursos humanos para a faixa
etria do ensino bsico e fundamental.
Este projeto surgiu a partir do banco de dados idealizado durante o Doutorado em Musicologia
concludo em maro de 2008. Como j dito anteriormente entendemos ser possvel, criar atravs
de um Projeto Interativo Musical (PIM) e disponibilizar a histria dos gneros musicais, localiza-
o geogrfica, composies, partituras, sons, vdeos e bibliografias.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS:
DERTOUZOS, M. O que ser. So Paulo: Editora Schwarcz, 1997.
LEVY, Pierre. As Tecnologias da Inteligncia. So Paulo: Editora 34, 1995.
PITRE VSQUEZ, Edwin Ricardo. Veredas Sonoras da Cmbia Panamenha: Estilos e Mudana de Pa-
radigma. Tese de Doutorado Universidade de So Paulo Programa de Ps-Graduao da Escola de
Comunicaes e Artes. Linha de pesquisa: Histria, Estilo e Recepo. rea de Concentrao: Musicologia.
Orientador: Prof. Dr. Eduardo Seincman, So Paulo, 2008, 151 folhas.
PAIVA, J.E.R. Uma breve abordagem da tecnologia aplicada ao ensino musical e as possibilidades ofereci-
das pela multimdia. Cadernos da Ps Graduao Campinas, S.P. v.8 p.175-80, 2005.
8 DERTOUZOS, 1997.
9 PAIVA, J.E.R. 2005.
CI ANTEC
// 209 //
O DADO PREGA UMA PEA NA DIVULGAO CIENTFICA
ELENISE DE ANDRADE
-
DOUTORA PELA FACULDADE DE EDUCAO (FE) DA UNICAMP.
ATUALMENTE PESQUISADORA CONVIDADA DO LABORATRIO DE ESTUDOS AUDIOVISUAIS (OLHO-
FE-UNICAMP) E COORDENADORA DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FACULDADE NETWORK. //
SUSANA DIAS
-
DOUTORA PELA FE DA UNICAMP, PESQUISADORA, EDITORA E REPRTER
DO LABORATRIO DE ESTUDOS AVANADOS EM JORNALISMO (LABJOR-UNICAMP) // CARO-
LINA CANTARINO
-
ANTROPLOGA, MESTRE EM ANTROPOLOGIA, PESQUISADORA DO LABJOR-
UNICAMP E DOUTORANDA DO INSTITUTO DE FILOSOFIA E CINCIAS HUMANAS (IFCH-UNICAMP)
// ALIK WUNDER
-
FOTGRAFA, BILOGA, MESTRE E DOUTORA EM EDUCAO, PESQUISADORA
DA FACULDADE DE EDUCAO (FE-UNICAMP). // THIAGO LA TORRE
-
VDEO PERFORMER,
PREMIADO NO 1O. SALO DE ARTE CONTEMPORNEA DA UNICAMP, PS-PRODUTOR NA TV
SCULO 21, ALUNO DA GRADUAO DO INSTITUTO DE ARTES DA UNICAMP. // GUSTAVO
TORREZAN
-
GRADUADO EM ARTES PLSTICAS PELA UNICAMP, PREMIADO NO 14O. SALO DE
ARTE CONTEMPORNEA DE CAMPINAS, E PESQUISADOR VINCULADO FE E LABJOR DA UNICAMP
// FERNANDA PESTANA - DESIGNER, ALUNA DA GRADUAO DO INSTITUTO DE ARTES DA
UNICAMP. //
CAROLINA RAMKRAPES - ALUNA DE GRADUAO DA FACULDADE DE CINCIAS
MDICAS, BOLSISTA SAE-UNICAMP PELA FE // SHEYLA MACEDO - ALUNA DE GRADUAO
DO INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM, BOLSISTA SAE-UNICAMP PELO LABJOR // HARLEY
TONIETE - ALUNO DE GRADUAO DO INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM, BOLSISTA SAE-
UNICAMP PELA FE // CARLOS VOGT - COORDENADOR DO LABJOR-UNICAMP, COORDENADOR
DO PROJETO BIOTECNOLOGIAS DE RUA, FINANCIADO PELO CNPQ NO. 553572/2006-7.
EDITAL MCT/CNPQ N. 12/2006.
RESUMO // Biotecnologias e culturas em jogo, depois dos dois pontos, Num dado momento.
Sem narrao nem descrio que seja dado pelas imagens (DELEUZE, 2005). Proposta de ex-
perimentao teatral que explora um entrelaar de diversas linguagens o teatro de rua, as
artes visuais, a literatura, a msica, o jogo e a poesia para atuar na divulgao das cincias,
focalizando a relao entre biotecnologias, vida e tempo. Produo de uma equipe de artistas e
pesquisadores no projeto de pesquisa, ao e interveno Biotecnologias de Rua, financiado
pelo CNPq. Que divulgao pulsaria nem da rua nem das biotecnologias, mas no entre, desde
dentro da partcula de, despojada de conexes, opinies, representaes, fixaes? Encenao
e(m) participao do pblico-autor (de escolas e ruas) que joga imensos dados com imagens/pa-
lavras tensionando a composio de um poema-pea-divulgao-cientfica. Uma popularizao
como espalhamento, aproximaes com as desestabilizaes e confuses criativas entre cincia
e arte para fornecer outros modos de divulgao cientfica. (...) presente no projeto a aposta
que as pessoas podero ser atradas, por mltiplas interfaces de comunicao, e convidadas
a ampliar contato e reflexo sobre cincia, intensificando as possibilidades do projeto, que se
espelha e espalha pelas paralelas dos pneus10, as ruas! (Vogt et al, 2007). A pea Num dado
momento: biotecnologias e culturas em jogo coloca em cena um cientista-vidente que contracena
com um dado-humano em pequenos atos inspirados nas obras literrias de Lewis Carroll (Alice no
Pas da Maravilhas), Lus Fernando Verssimo (Pedindo uma pizza daqui a 10 anos... em 2015) e
Dino Buzzati (A criao) perambulando por um complexo a envolver teatro, msica, jogo, literatura
e poesia em conexes com os estudos que focalizam imagens, cincias e culturas. Ao final de cada
ato, os atores convidam o pblico a jogar e cada jogo registrado em um painel compondo um po-
10 E as paral el as dos pneus, n gua das ruas so duas estradas nuas... (verso da cano Paral el as de autori a
de Bel chi or). Fonte: http://vagal ume.uol .com.br/bel chi or/paral el as.html (vi si tado em 26/01/2007).
CI ANTEC
// 210 //
ema Num dado momento sobre o futuro dos humanos, apostando no inesperado, na rua, na vida,
nas biotecnologias como hbridas das culturas. Deslizes, lances, relances: combinaes caticas:
imagens, dados, atores, fotografias, vdeos, palavras, pesquisadores, sorrisos, silncios, artistas, in-
quietaes, imagens, estranhamentos, escolhas, fotgrafos, cmeras numa exploso de novos lan-
ces. Num duplo movimento, numa dupla invaso e arrombamento que o projeto Biotecnologias de
Rua aposta: levar-lanar as biotecnologias s ruas e levar-lanar as ruas s biotecnologias. Com-
binaes mltiplas em bios, tecnos, logias e ruas em comunicao, cincia, poltica e imagens que
atravessam, produzem e multiplicam o que as singularidades do grupo tencionam. Potncia da
criao na pluralizao dos devaneios. Contaminaes. Pulsares e liberares. Capturas e solturas.
Dados soltos. A cada soltura, lance, jogo, a instalao quer propor que o visitante/pblico/autor
se lance e se permita ao vo cego. Cegueira na grafia do poema que se faz, que no termina, que
termina e continua e joga. Abertura para um jogo catico e infinito de combinaes e recombina-
es a cada dado. A cada palavra. A cada verso. A cada ponto. A cada dois pontos.
PALAVRAS CHAVES // Teatro; Divulgao cientfica; Linguagem; Arte; Biotecnologias.
The data plays a role in science communication
ABSTRACT // Biotechnologies and cultures are at stake, after the colon, Num dado momento.
Without narration nor description that are provided by the images (DELEUZE, 2005). Proposal of
theatrical experimentation that explores the interlace of diverse languages the street theater,
the visual arts, the literature, the music, the game and the poetry to act in the communication of
sciences by focusing the relationship between biotechnologies, life and time. The production of
a team of artists and researchers in the research project, action and intervention, Biotecnologias
de Rua, financed by CNPq. Which communication would beat neither in the street nor in the bio-
technologies, but in between them, from the inside of the particle of, deprived of connections, opi-
nions, representations, settings? Performance and (in) participation with the public-author (from
schools and streets) that plays huge dices with images/words tensioning the composition of a
poem-play-science-communication. A popularization as scattering, approaches with the creative
instability and confusions between science and art to supply other ways of science communi-
cation. (...) It is present in the project the bet that the people could be attracted by multiple
interfaces of communication and invited to expand contact and reflection on science by intensi-
fying the project possibilities (), the streets! (Vogt et al, 2007). The play Num dado momento:
biotechnologies and cultures are at stake puts in scene a scientist-fortune teller who performs with
a human-dice in small acts inspired by the literary compositions of Lewis Carroll (Alice in Wonder-
land), Luis Fernando Verssimo (Pedindo uma pizza daqui a 10 anos... em 2015) and Dino Buzzati
(A criao) wandering into a complex that involves theater, music, game, literature and poetry in
connections with studies that focus on images, sciences and cultures. At the end of each act, the
actors invite the public to play and each throw is registered in a panel composing a poem Num
dado momento about the future of human beings, betting in the unexpected, the street, the life,
the biotechnologies as the cultures hybrid. Slips, throws, glances: chaotic combinations: images,
data, actors, photographs, videos, words, researchers, smiles, silence, artists, disturbance, images,
CI ANTEC
// 211 //
weirdness, choices, photographers, cameras in an explosion of new throws. In a double movement, a
double invasion and burglary that the project Biotecnologias de Rua bets: taking-throwing the bio-
technologies to the streets and taking-throwing the streets to the biotechnologies. Multiple combina-
tions in bios, technos, logies and streets in communication, science, politics and images that cross,
produce and multiply the singularities intended by the group. The creation potency in the plurality
of reveries. Contaminations. Beatings and liberation. Captures and freedom. Free data. At each
release, roll, game, the installation wants to propose to the public/visitor/author throws and allows
him/herself to a blind flight. Blindness in the writing of the poem that does not end, that finishes and
continues and plays. Opening to a chaotic and infinite game of combinations and recombinations
at each data. At each word. At each verse. At each point. At each colon.
Biotecnologias e culturas em jogo, depois dos dois pontos, Num dado momento. Proposta de
experimentao teatral que explora um entrelaar de diversas linguagens o teatro de rua, as ar-
tes visuais, a literatura, a msica, o jogo e a poesia para atuar na divulgao das cincias, foca-
lizando a relao entre biotecnologias, vida e tempo. A produo da pea
11
(roteiro, cenografia,
etc) foi feita coletivamente e pensada num atravessamento de linguagens que buscam gerar uma
disperso e multiplicao na noo de biotecnologias. Oito apresentaes no Museu da Imagem
e do Som (MIS) de Campinas, em maro de 2008, para 280 alunos e professores de escolas
municipais. Num dado momento: biotecnologias e culturas em jogo faz parte de um projeto de
ao, interveno e pesquisa o Biotecnologias de Rua financiado pelo CNPq e desenvolvido
por uma equipe multidisciplinar de artistas e pesquisadores ligados Faculdade de Educao
e ao Laboratrio de Estudos Avanados em Jornalismo (Labjor), ambos da UNICAMP, com incio
em janeiro de 2007. Neste projeto, compartilhamos da idia de que a participao do pblico na
produo do conhecimento fundamental e que a interao entre pesquisa e extenso faz-se
necessria para abrir brechas criao de uma nova postura poltica perante as biotecnologias
e suas divulgaes pelas mdias.
Ressonncias e(m) possibilidades pela arte, poesia, fotografia, teatro na proposta de espalha-
mento: que divulgao pulsaria nem da rua nem das biotecnologias, mas no entre, desde dentro
da partcula de, despojada de conexes, opinies, representaes, fixaes? No haveria um
centro, um modelo a partir do qual a divulgao e/ou o co-
nhecimento partissem ou chegassem, mas proliferaes de
sentidos. Sentido que, acompanhando Gilles Deleuze (2003),
se efetua no acontecimento singular do instante. Im-previsvel.
In-tenso. ENCENAO E(M) PARTICIPAO DO PBLICO-AUTOR que joga
imensos dados com imagens/palavras tensionando a compo-
sio de um poema-pea-divulgao-cientfica. Proliferao
de sentidos pelas superfcies das palavras, sem narrao nem
11 Fi cha Tcni ca: Di reo e Rotei ro - Grupo Parada de Rua: Andr Mal avazzi , Carol i na Cantari no, El eni se Andrade, Mari a
Cri sti na Bueno, Marcel o L ri o, Susana Di as. Fi guri no e cenografi a - Andr Mal avazzi , Carol i na Cantari no, Fernanda Pestana,
Gabri el a Chi arel l i e Susana Di as. Atores - Marcel o L ri o (ci enti sta) e Cri sti na Bueno (mul her-dado) Produo - Bi otecno-
l ogi as de Rua (Coord. Carl os Vogt) equi pe de pesqui sadores e arti stas do Labj or e FE Uni camp. Nmero do processo:
553572/2006-7. Edi tal MCT/CNPq n. 12/2006.
CI ANTEC
// 212 //
descrio que sejam dadas anteriormente (DELEUZE, 2005). Uma popularizao como espalhamen-
to, aproximaes com as desestabilizaes e confuses criativas entre cincia e arte para fornecer
outros modos de divulgao cientfica. (...) presente no projeto a aposta que as pessoas podero
ser atradas, por mltiplas interfaces de comunicao, e convidadas a ampliar contato e reflexo
sobre cincia, intensificando as possibilidades do projeto, que se espelha e espalha pelas parale-
las dos pneus
12
, as ruas! (Vogt et al, 2007).
A pea Num dado momento: biotecnologias e culturas em jogo coloca em cena um cientista-
vidente com um grande terceiro olho que est em seu laboratrio-rua em frente ao notebook-bola-
de-crista e que contracena com um dado-humano. Pea em pequenos atos inspirados nas obras
literrias de Lewis Carroll (Alice no Pas da Maravilhas), Lus Fernando Verssimo (Pedindo uma
pizza daqui a 10 anos... em 2015) e Dino Buzzati (A criao) perambulando por um complexo
a envolver teatro, msica, jogo, literatura e poesia em conexes com os estudos que focalizam
imagens, cincias e culturas. V-
RIOS PERSONAGENS ASSUMINDO NOVOS
PAPIS, multiplicando as possibili-
dades de pensarmos num cien-
tista e num dado e, ao final de
cada ato, os atores convidam o
pblico a jogar os dados-ima-
gens-palavras com cada jogo
sendo registrado em um painel
compondo um poema Num dado momento sobre o futuro dos humanos. Poema de palavras
lanadas por dados. O que voc levaria para o futuro? a pergunta feita para o pblico-poeta
antes do lanamento, na inteno de intensificar um duplo movimento, uma dupla invaso e
arrombamento que o projeto Biotecnologias de Rua aposta: levar-lanar as biotecnologias s
ruas e levar-lanar as ruas s biotecnologias. Combinaes mltiplas em bios, tecnos, logias e
ruas em comunicao, cincia, poltica e imagens que atravessam, produzem e multiplicam o
que as singularidades do grupo tencionam. Colocar em suspenso a linearidade conhecimen-
tos cientficos => pblico. Perturbar essa hierarquia. Potncia
da criao na queda de fronteiras, na diluio de barreiras.
Hibridismo e contaminao na troca, na multiplicidade, nas
produes em fugas de conhecimentos, sensaes, efeitos
momentneos, FUTUROS-PRESENTES-PASSADOS.
Capturas e solturas. Dados soltos. A cada soltura, lance,
jogo, a instalao quer propor que o visitante-pblico-autor
se lance e se permita ao vo cego. Lance que se lana. Jogo
ideal como nos convida Deleuze (2003) em trs possibilida-
des: (...) 1) No h regras preexistentes, cada lance inventa suas regras, carrega consigo sua
prpria regra. 2) Longe de dividir o acaso em um nmero de jogadas realmente distintas, o con-
junto das jogadas afirma todo o acaso e no cessa de ramific-lo em cada jogada. 3) As jogadas
12 E as paral el as dos pneus, n gua das ruas so duas estradas nuas... (verso da cano Paral el as de autori a de Bel chi or).
Fonte: http://vagal ume.uol .com.br/bel chi or/paral el as.html (vi si tado em 26/01/2007).
CI ANTEC
// 213 //
no so, pois, realmente, numericamente distintas, mas todas so as formas qualitativas de um s e
mesmo lanar, ontologicamente uno (Deleuze, 2003, p.62). O dado prega uma pea na divulgao
cientfica. Lana a em vo cego na grafia do poema que se faz, que no termina, que termina e
continua e joga e se abre para outros mundos em bios, cincias, tecnologias. Artes. Abertura para
um jogo catico e infinito de combinaes e recombinaes a cada dado. A cada palavra. A cada
verso. A cada ponto. A cada dois pontos.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
DELEUZE, Gilles. A imagem-tempo. Traduo de Eloisa de Araujo Ribeiro. So Paulo: Brasiliense, 2005.
(Cinema 2)
DELEUZE, Gilles. Lgica do Sentido. Traduo de Luiz Roberto Salinas Fortes. So Paulo: Perspectiva,
2006.
VOGT, Carlos et al. In: VII CONGRESO IBEROAMERICANO DE INDICADORES DE CIENCIA Y TECNOLOGA.
2007. Anais. So Paulo: Fapesp. 2007.
GALERIA VIRTUAL: UM PROJECTO PARA O SCULO XXI
INS MCIA DE ALBUQUERQUE DESIGNER COM ESPECIALIZAO EM COMUNICAO PELA
ESTAL, LISBOA, PORTUGAL. DOUTORANDA EM ESTUDOS DE ARTE PELA UNIVERSIDADE DE
AVEIRO, PORTUGAL. // RICARDO M.S. TORRES SOCILOGO, INVESTIGADOR CEAS/ ISC-
TE E CRIA, PORTUGAL. MESTRANDO EM SOCIOLOGIA PELO ISCTE.
PALAVRAS-CHAVE // Internet, Arte Contempornea, Net.Art.
O contexto artstico do incio deste novo sculo tem sido alvo de vrias abordagens e ques-
tionamentos no intuito de se compreender a sua real situao, assim como o seu entorno. As
linguagens artsticas e plsticas so mltiplas e variadas, muitas delas enrazadas nas alteraes
j propostas pelos movimentos artsticos do sculo XX. Hoje encontramos novas formas de pen-
sar e fazer arte, a par de novas formas de relao e compreenso da arte por parte do cidado
comum, novos papis para os principais intervenientes neste processo e tambm novos materiais
e matrias de expresso plstica, tudo isto decorrente da evoluo humana e tecnolgica, e da
estreita relao que encontramos entre tudo o que criado pelo artista e tudo o que existe hoje, no
nosso mundo exterior e interior. Entendendo a arte como uma forma de expresso exclusivamente
associada ao Homem e necessria para a sua completa harmonia, facilmente perceptvel a extra-
ordinria importncia que a arte tem no nosso quotidiano e a valorizao enquanto ferramenta de
conhecimento acerca do nosso ambiente social, cultural, histrico e at poltico.
Fundamental no contexto da Arte Contempornea, abordada neste artigo, e alm das formas de arte
CI ANTEC
// 214 //
ditas tradicionais, a Arte Digital. De uma forma simplista a Arte Digital inclui todas as formas de
arte criadas com recurso a algum suporte tecnolgico e informtico, gerando obras no materiais
e apenas existentes e acessiveis atravs de ambientes virtuais. Explora a expresso audio-visual e
por vezes tambm a expresso tctil, procurando uma experincia esttica imersiva. Inclui formas
de expresso como a net.art, web art, mail art, pixel art, fractal art, video-arte, performance digital,
entre outras.
O incio da Arte Digital, a par da relao da arte com os novos suportes comunicacionais, pode
provavelmente ser encontrado nas experimentaes artsticas realizadas por Nam June Paik, ar-
tista sul coreano radicado nos Estados Unidos da Amrica. Os seus trabalhos multidisciplinares
e colaborativos (em muitos dos seus trabalhos relacionava msica ou som, performance, tecnolo-
gia/electrnica e trabalhava em conjunto com artistas como Joseph Beuys e Salvador Dal, entre
outros) realizados nas dcadas de 60 e 70 do sculo XX, a partir da apropriao das inovaes
tecnolgicas do momento televiso, video, video-gravador abriu caminho ao que, sempre
tendo sido caracterstica dos artistas de vanguarda, se foi assumindo progressivamente como
fundamental na arte contempornea: a utilizao da tecnologia mais recente como matria para o
pensamento e para a produo artstica, e a adopo dos meios de comunicao para a criao
e divulgao da arte.
Um dos meios de comunicao mais importantes, hoje, contribuindo para a Arte Contempornea
a rede de Internet. Enquanto meio de comunicao de alcance global e imediato, de livre
acesso, de baixo custo, e supostamente democrtico, foi apropriado pelos artistas enquanto
espao de criao e divulgao artstica sensivelmente a partir de 1995, ano em que a utiliza-
o da Internet se generalizou populao em geral. A adopo da rede para a produo e
divulgao artstica confrontou-se no incio com dificuldades tcnicas que limitaram a liberdade
criativa. Actualmente, com o aperfeioamento destas condies, com o aumento da velocidade
de transmisso de dados, e com a criao de softwares cada vez mais especficos e adequados
utilizao deste meio de comunicao, a Internet tornou-se um espao virtual perfeitamente
apto para a criao, divulgao e discusso terica13 da Arte. Tambm permitiu a existncia de
uma nova forma de Arte, inteiramente dependente deste meio de comunicao: a net.art ou arte
de Internet, expresso artstica criada em e para a rede de Internet.
As caractersticas da net.art, das quais se destacam a existncia em ambiente virtual e uma est-
tica particular decorrente do mesmo, o carcter no material e efmero da obra, a interactividade,
a multiplicidade de pontos de acesso obra e a realizao de obra-processo, traduzem-se numa
alterao dos papis do artista, do observador/fruidor, da obra de arte, e at da prpria arte em si,
que retoma o desejo utpico de ser acessvel e estar perto de todos os cidados. De igual forma
altera tambm o papel do museu e da galeria, do curador, do mercado e do coleccionador e at
da prpria ideia de exposio.
a partir deste contexto, e da compreenso da questo social e cultural associada que surge o
projecto da criao de um espao virtual capacitado para o estudo e a divulgao da net.art, atra-
13 A Internet possi bi l i tou a cri ao de grupos de ci dados, organi zados pel os seus i nteresses e no pel a l ocal i zao geo-
grfi ca, para a di scusso de vri os temas l i gados produo art sti ca e s novas tecnol ogi as, tal como o caso do famoso
grupo Rhi zome - www.rhi zome.org, The Thi ng - www.thi ng.net, ou Brumari a - www.brumari a.net.
CI ANTEC
// 215 //
vs de actividades anlogas aquelas que so desenvolvidas pelas instituies: estudo das obras,
desenvolvimento de curadorias e apresentao de exposies, tendo como ponto de partida o am-
biente virtual da rede e um site a ser especificamente criado para o efeito.
necessrio compreender que este ambiente de expresso artstica se reveste de algumas ca-
ractersticas que lhe so intrnsecas e que permitem a explorao de novos caminhos no que diz
respeito produo cultural. Desde os novos instrumentos de criao, passando pelas formas de
exibio disponveis e chegando legitimao da obra em si, todos os aspectos envolvidos tm
sido modificados. Assim preciso compreender que alteraes decorreram e como decorreram
essas alteraes. Mas, por outro lado, tambm preciso recordar que esta ruptura com as repre-
sentaes at agora existentes no algo de particularmente inovador ou recente. De facto, j
desde o nascimento da pintura moderna em Frana a institucionalizao da anomia que se
podem encontrar rupturas semelhantes, que tm provocado subverses das lgicas institucionais
de produo cultural. Os prprios modos de pensar e as articulaes com a realidade sofrem alte-
raes, criando novos arqutipos simblicos. H todo um processo de construo e reconstruo
social que importa analisar e compreender.
Esse processo no acarreta s as referidas (re)criaes, pois tambm h todo um jogo de ten-
ses com as formas institucionais vigentes at esse ponto. Nem sempre a mudana aceite sem
conflito, pelo que importa, tambm, perceber essas mesmas resistncias. Atente-se no exemplo
ilustrativo do chamado culto do amadorismo, expresso que utilizada para classificar grande
parte da produo cultural na internet. Trace-se, ento, um paralelismo com a revoluo levada
a cabo por Manet14.
Assim, percebe-se a premncia de construir um locus confluente de criao, produo, exibio,
fruio e anlise. Este locus ser ento a futura Galeria Virtual, projecto ainda em desenvolvimen-
to e que pretende, a partir de um espao virtual acessvel apenas atravs da rede de Internet,
tornar-se o ponto de partida de todo um trabalho terico e prtico, na explorao de diversas
questes que so levantadas hoje, a propsito deste meio de comunicao, de um ponto de vista
cultural e social, e a propsito de novas formas de arte, novas formas de obra, e novos papis
para os intervenientes no processo artstico.
ERA POTICA: UMA VISO DA ARTE E DAS NOVAS
LINGUAGENS NO SCULO XXI.
ISABEL VICTORIA GALLEGUILLOS JUNGK / PS-GRADUANDA EM SEMITICA PSICANAL-
TICA: CLNICA DA CULTURA DA PUC-SP
RESUMO // Este trabalho procura desenvolver a idia de que a funo potica encontra-se potenciali-
zada nas novas formas de comunicao na contemporaneidade. Na arte e nos ambientes hipermdia
14 Bourdi eu, P., O Poder Si mbl i co, Di fel , 2001
CI ANTEC
// 216 //
encontramos cada vez mais a prevalncia dos aspectos icnicos sobre os simblicos. Esta tendn-
cia apontaria para uma nova Era Potica na qual se inserem as novas formas de uso das linguagens
existentes e a criao das linguagens que esto por vir.
PALAVRAS CHAVE // 1. Semitica 2. Hipermdia 3. Cognio 4. Lingstica 5. Arte
ABSTRACT // This work intends to develop the idea of language poetic function being potentialized in
the new forms of communication of nowadays. In art and in hypermediatic environments is possible
to find the prevalence of the iconic aspects over the symbolic ones. This tendency points to a new
Poetic Era in which are inserted the new uses of the existent languages and the creation of the
languages yet to come.
KEYWORDS // 1. Semiotics 2. Hypermedia 3. Cognition 4. Linguistics 5. Art
INTRODUO
Nada mais humano do que a linguagem. ela que nos constitui, que nos faz sermos animais
falantes, parltres (falentes) no dizer de Lacan, isto , seres de linguagem. Diferentemente dos
outros animais, os sons primitivos que o homem emitia foram se transformando no complexo
cdigo da linguagem falada e da escrita. Cdigos ou linguagens podem ser entendidos como
sistemas de signos, simples ou complexos, organizados e convencionados de tal modo que
possibilitem a construo e transmisso de mensagens. E com o tempo, foram surgindo novos
cdigos e linguagens.
Mas a sintaxe, essa estrutura ou as relaes formais de associao e organizao entre os signos,
independentemente do tipo de linguagem, pode ocorrer basicamente por dois processos: por
contigidade (proximidade) ou por similaridade (analogia). Esses dois processos formam dois ei-
xos: o paradigmtico, eixo de seleo por similaridade, e o sintagmtico, eixo de combinao por
contigidade. Esses dois princpios so to importantes e presentes em nossa mente que podem
ser aplicados para a anlise, compreenso e cognio de qualquer linguagem ou cdigo.
No Ocidente, as linguagens e cdigos, ou melhor, os signos dentro deles, foram sendo organiza-
dos para transmitir mensagens por subordinao ou hipotaxe, elementos caractersticos do sin-
tagma. Assim, nos habituamos a mensagens hipotticas, hierarquizadas, em que as informaes
so apresentadas de forma seqencial, linear, verbal, lgica, e que, segundo a neurocincia,
privilegiam o hemisfrio esquerdo do crebro.
Mas h outra forma de transmitir mensagens: por coordenao ou parataxe, elementos prprios
do paradigma, base das linguagens ideogramticas do Oriente. Nas mensagens assim constitu-
das, os signos justapem-se de forma paralgica (ou analgica), no-linear, no-verbal, simult-
nea e que se enderea diretamente ao hemisfrio direito do crebro. Diagramaticamente (Pignatari,
1979, pg.116), temos os dois eixos e suas associaes:
CI ANTEC
// 217 //
SIGNO
paradigma / seleo sintagma / combinao
parataxe (coordenao) hipotaxe (subordinao)
similaridade / analogia contigidade / proximidade
primeiridade secundidade terceiridade
cone (qualissigno) ndice (sinsigno) smbolo (legissigno)
analgica (paralgica) lgica
simultaneidade / sincronia linearidade / diacronia
no-verbal verbal
arte / poesia cincia / prosa
paronomasia/metfora
(paramorfismo)
metonmia (metfora)
modelo conceito
significante / forma significado / contedo
sntese / signo de anlise / signo para
inconsciente consciente
Oriente Ocidente
lobo direito (crebro) lobo esquerdo (crebro)
INTERPRETANTE
A ERA POTICA
A partir dos fins do sculo XIX, e durante a primeira metade do sculo XX, novas formas de uti-
lizar os cdigos foram sendo exploradas e estudadas no Ocidente, com intensidade crescente,
procurando criar e desvendar mensagens paratticas, com e nas linguagens ocidentais. Como
exemplos, podemos citar a poesia de Stphane Mallarm, a Interpretao dos sonhos de Sigmund
Freud, e o Curso de lingstica geral de Ferdinand de Saussure. Foi o surgimento da Ideografia
Ocidental. (Pignatari, 1979, pg. 84)
CI ANTEC
// 218 //
J na segunda metade do sculo XX, novas e poderosas linguagens icnicas (analgicas, paralgi-
cas) foram sendo aperfeioadas e criadas: a fotografia, o cinema, a televiso, a internet, entre ou-
tras, ajudaram a romper a supremacia da linearidade no Ocidente. Assim, pergunta Dcio Pignatari
(2005, pg.54): Estaria o lobo direito com possibilidades de ganhar novo impulso em seu desen-
volvimento? Ento, depois de uma Era Industrial, de uma Era Atmica, de uma Era Ps-Industrial,
poderamos entrar numa Era Potica?
Para Jakobson, a funo potica projeta o princpio de equivalncia do eixo de seleo no eixo
de combinao. Samira Chalhulb (2004, pg. 34) nos diz ento, que possvel observar funo
potica fora da poesia: Qualquer sistema de sinal (signos, diria Peirce), no sentido de sua orga-
nizao, pode carregar em si a concentrao potica, ainda que no predominantemente. Uma
foto pode estar contaminada de traos poticos, uma roupa pode coordenar, na sua montagem
sintagmtica, o equilbrio de cor, corte e textura do tecido, um prato de comida pode desenhar,
sensualmente, a forma e cheiro do cardpio, uma arquitetura pode exibir relaes de sentido
entre o espao e a construo, a prosa pode aspirar poeticidade...
E Pignatari completa (1979, pg.114): Assim, traduzindo a famosa funo potica de Jakobson,
da Lingstica para a Semitica, temos: a linguagem verbal, particularmente a linguagem simb-
lica peirciana, adquire a to falada funo potica, quando um sistema icnico lhe infra, intra
e super imposto. O corolrio disto: ... quando uma sintaxe analgica superposta a uma sintaxe
lgica. Ora, no isso a que assistimos hoje com a intensa hipermidializao das mdias?
Podemos considerar essa hipermidializao como a superposio, ou insero cada vez mais
significativa, nas mdias, de signos icnicos ou hipocones (que Peirce classificou em imagem,
diagrama e metfora), alm da utilizao de forma icnica dos recursos textuais, predominante-
mente simblicos a princpio.
Desta forma, os indcios de que j entramos nessa Era Potica tornam-se patentes, e podem ser
apontados em todas as manifestaes culturais: na msica, na moda, nas artes, na publicidade,
na linguagem videoclptica (por coordenao) cada vez mais presente no cinema e na televi-
so. E o mais premente desses indcios se faz sentir justamente nas linguagens falada e escrita,
que atualmente sofrem os abalos que as caractersticas da linguagem hipermiditica da internet
lhe impe: a estrutura reticular dos textos e a no-linearidade, onde o leitor (interator) constri
sua prpria seqncia narrativa, ou ainda, constri uma hipersintaxe, ao mesmo tempo em que
interage com o suporte da mensagem.
CONCLUSO
Sim, parece inelutvel o advento da Era Potica. Mas como ser a comunicao do futuro, quando
a evoluo dos sistemas de signos coloc-los altura dessa funo potica que hoje vislumbra-
mos potencializada, quando as linguagens estiverem desenhadas para acompanhar e privilegiar
essa funo?
Parece que a natureza dessas novas linguagens a transcodificao semitica, nome que Pignatari
deu ao processo de criao que Edgar Poe utilizou em suas obras (1979, pg.72), e cujas caracters-
CI ANTEC
// 219 //
ticas principais podemos assim resumir:
a) necessidade de abordagens semiticas - essas linguagens apresentam elementos no suscet-
veis de serem apreendidos por instrumentos exclusivamente lingsticos, requerendo abordagens
aplicveis tambm a outros sistemas de signos, ou seja, abordagem semiticas propriamente
ditas;
b) saturao de cdigos - so processos pelos quais se satura um cdigo, extrapolando a mensa-
gem para outro ou outros cdigos, o que caracteriza uma operao pansemitica ou intersemitica,
que ao mesmo tempo, uma operao metalingstica desvendadora da linguagem em sentido
lato;
c) no-linearidade - rompem a chamada linearidade do discurso, na medida em que so amb-
guas, da resultando signos em profundidade que se afastam do automatismo verbal, signos
verticais, espessos, cuja espessura resulta de camadas de signos embutidos em palimpsesto,
gerando simultaneidade de informao e tendendo a ou sendo um cone;
d) predominncia icnica - revelam a natureza icnica da linguagem (em sentido lato) atravs
de sua funo potica, contrariando a natureza predominantemente simblica do signo verbal,
j que a funo potica nada mais do que a iconizao do signo simblico, reveladora do
lado palpvel dos signos, aproximando-os de seus objetos, sem que, com isso, deixem de ser
signos.
Muito se tem falado em associao de idias. Para Pignatari, (1979, pg.115) Em termos estri-
tamente semiticos, no existe tal coisa, mas somente associaes de formas: o significado de
um signo um outro signo e esta funo significante exercida pelo interpretante que, por sua
vez, icnico por natureza um super ou meta-signo, continuamente estabelecendo diagramas
significantes (...). Resumindo: no se pode ter uma idia (terceiridade) isolada de sua forma
(primeiridade). E continua : Forma (outra denominao de cone) primeiridade e a sua prin-
cipal forma de organizao a coordenao (parataxe). Isto no significa, entretanto, que no
exista uma hierarquia icnica; a diferena est no fato de que a hierarquia icnica se estabelece
analogicamente, no logicamente., e finaliza: Conscincia de linguagem implica conscincia
de sua organizao icnica. Estar realmente consciente da linguagem significa estar liberto da
iluso de contigidade.
Por outro lado, a comunicao e a cognio tambm no se enquadram mais nos modelos cls-
sicos, reducionistas, em que sujeito e objeto so considerados separadamente. Em um novo pa-
radigma, o sujeito, passa a ser visto como entidade em constante interao com o meio, o co-
nhecimento, por sua vez, deixa de ser a apreenso de informaes externas para ser concebido
como a reelaborao contnua destas, e a comunicao deixa de ser o ato de comunicar uma
mensagem fixa: ... a comunicao e a cognio no se do entre termos ou entes separados,
apenas segundo variveis complexas, tais a histria de vida, a enunciao, o contexto ou as rela-
es estabelecidas. Mas, sim, estes termos, tais quais os quanta, se configuram intensivamente,
existem, conhecem e comunicam em relaes irredutveis a estruturas, e comunicam algo mais que
significados: criam, e comunicam, sentido. (Martins, 1998, pg.76, grifos nossos)
CI ANTEC
// 220 //
Podemos ento, concluir (mas sem encerrar o assunto), que esta nova Era Potica, icnico-cons-
ciente, trar a aproximao entre arte e cincia, a integrao entre as potencialidades dos hemis-
frios do crebro, e assim, a ampliao de possibilidades cognitivas e da dimenso perceptiva do
ser humano, liberando-o do jugo da linearidade para uma comunicao mais autoconsciente de seu
processo e, portanto, mais capaz de transmitir mensagens com maior riqueza e proficuidade.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
Chalhub, Samira. Funes da Linguagem. Editora tica: So Paulo, 2004.
Jakobson, Roman. Lingstica e Comunicao. Editora Cultrix: So Paulo.
Leo, Lcia. O labirinto da hipermdia. So Paulo: Iluminuras, 2005.
Martins, Andr. Por um novo paradigma ontolgico-comunicacional para as humanidades. Revista
Face,1999,vol.2,Caos e ordem:Filosofia e Cincias. SP:EDUC,1988.
Pignatari, Dcio. Semitica e Literatura. Icnico e Verbal. SP:Cortez e Morais,1979.
Pignatari, Dcio. O que comunicao potica. Cotia, SP: Atelier Editorial, 2004.
Santaella, Lcia; Nth, Winfried. Imagem: cognio, semitica, mdia. Iluminuras, 1999.
O DESENHO: PROCESSO DE CRIAO E PRTICA
COMUNICATIVA.
ISABEL ORESTES SILVEIRA - DOUTORANDA EM COMUNICAO E SEMITICA DA PONTFICE
UNIVERSIDADE CATLICA PUC/SP. PROFA. DA UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
NO CURSO PROPAGANDA, PUBLICIDADE E CRIAO.
RESUMO // Entendemos o desenho como linguagem que se faz situado em meio multiplicida-
de de interaes e dilogos e encontros com o outro. Tais fatores mediam a criatividade e a
imaginao, estabelecendo relaes, ou seja, nas interaes com o outro vai se construindo o
longo processo de criao. Nesse sentido, sustentamos a idia de criao enquanto atividade
dinmica, que se d em processo durante as experincias de percepo e de representao que
o sujeito faz como fruto de conhecimento (marcas da cultura). O que queremos destacar o fato
de que a experincia vai tomando forma. Deste modo a interao comunicativa articulada entre
o desenhista, o desenho e o receptor, promovem uma experincia visual de efeito recproco de
modo que um no pode se separar do outro.
PALAVRAS CHAVE // desenho, processo de criao, comunicao.
Drawing: creative process and communicative practice
ABSTRACT // A drawing is regarded as being a language which is situated in a multiplicity of inte-
ractions, dialogues and several social contexts. Such factors mediate creativity and imagination,
establishing relationships. In other words, the long creative process is formed by interactions. The
idea of creation is considered a dynamic activity, a process of perception and representation which
CI ANTEC
// 221 //
an individual goes through as a result of his knowledge. What must be stood out is the fact that the
experiment gradually takes on shape. Thus the articulate communicative interaction among the dra-
wer, the drawing and the observer promotes a visual experience, which is reciprocal, so that one
cannot be separated from the other.
KEY WORDS // drawing, creative process, communication
INTRODUO
Ao longo da histria da humanidade, podemos observar registros grficos deixados pelo homem,
como indcios de sua presena e da sua necessidade de se comunicar, sem que necessariamente
este, tivesse conscincia de que ao desenhar deixava marcas para a posteridade. Desde que
foram feitos os primeiros desenhos, o homem evoluiu e articulou novas formas de linguagem.
O desenho foi sendo entendido como manifestao expressiva do trao pessoal do seu autor, e
o conceito do belo desenho associou-se ao nico e singular. Todavia pretendemos considerar
o desenho na sua dupla dimenso. Por um lado, como produo subjetiva, sensvel; e, por outro,
como processo de criao que se atualiza na tica cognitiva e comunicativa por meio dos smbo-
los e dos cdigos em dilogo com a cultura.
Nesta perspectiva poderemos detectar a relao entre desenho e comunicao na medida em
que se compreende o desenho como produo de mensagens.
O DESENHO NA TICA CRIATIVA E COMUNICATIVA
O sujeito desenha mediado por inmeras variveis que dispe, dentre elas destacamos: a per-
cepo que afetada pelo que ele v; pelo que ele j viu; pelo que ele recorda (memria) e pelas
alteraes que ocorrem no interior e no exterior do sujeito; neste ltimo caso, o ambiente. A per-
cepo do indivduo lhe possibilita extrair informaes do ambiente, e esta capacidade individual
faz com que a ao de desenhar seja consciente ou automtica. No primeiro caso, o indivduo
desenha fazendo uso do que PEIRCE (apud FERRARA, 1993, p.107), considera juzo percep-
tivo: trata-se de uma percepo ativa, mais complexa, que distingue a qualidade do objeto ou
da imagem estimulando o sujeito que desenha. No segundo caso, quando o gestual se solta de
forma incontrolada e espontnea no desenho, podemos atribuir dimenso do percepto para tal
ao, dimenso que se constri, [...], visto que, a esse ato automtico, no cabe, propriamente,
a conscincia, mas apenas o registro do receptor: uma recepo passiva, prxima a um hbito de
perceber espontneo e incontrolvel.
Desenhar, portanto, fruto da percepo e implica em ao de um pensamento planejado, mas
tambm supe uma ao imprevisvel. Segundo MUNARI (2001, p.34), ao desenhar, pode-se es-
pontaneamente [...] comear a dispor de formas ao acaso, reagrupar, dividir, mudar, fazer ou-
tras aproximaes, deslocar, rodar, girar a folha, mudar at que a combinao das formas, que
lentamente adquiram consistncia, possa surgir maneira de determinar a composio. Esses
experimentos podem ser entendidos como ato cognitivo que pode levar a algo totalmente impreciso.
CI ANTEC
// 222 //
MUNARI (2001, p. 65) prossegue argumentando que a que a informao nasce de seleo ante
alternativas, em outras palavras, o que o autor afirma que existem infinidades de alternativas
para se desenvolver um desenho e sobre isso questiona o processo de escolha e diz: o problema
mesmo da deciso est intimamente ligado ao problema da criao, da inveno, da originalidade.
Decidir criar [...]. Por isso cada desenho singular; sempre novo, pois interage em processo
dinmico a cada momento com decises e escolhas.
Para SALLES (2001/2006) 15, o processo de criao pode ser percebido como resultado da se-
miose, em outras palavras, pode ser entendida como uma ao do sujeito sustentada pela busca
constante, pela procura, pela experimentao de signos, por meio de ndices deixados, vestgios
ou marcas durante a construo de uma imagem para designar o processo de significao ou de
produzir significados. A imagem que o sujeito v, pode ser por ele incorporada e transformada e
como resultado pode surgir novas formas de representao. Desse modo, desenhar supe leitura
do contexto que o cerca, processo de descoberta de significados e do exerccio de memria que
seleciona, organiza e d sentido ao que v.
CONCLUSO
Nossa inteno se props destacar o desenho e seu carter comunicativo, possuidor de cdigos
prprios que se articulam e se transformam, visando a sua constituio como linguagem. Apon-
tamos que o processo de criao do desenho pode surgir co-relacionado com seu ambiente, em
co-dependncia com o seu contexto e revelam subjetividades e memrias, elementos da percep-
o do seu autor. A representao manifestada pelo desenho alcanada ora pelas operaes
de abstrao e imaginao, frutos no s da percepo de imagens, mas tambm de quaisquer
mediaes entre o homem e o mundo (Flusser 2002, p.9).
Destacamos o fato de que a experincia vai tomando forma. Nas palavras de Dewey (1980), a
experincia um todo e traz consigo sua prpria qualidade individualizadora e sua auto-sufici-
ncia. A experincia se traduz no realizar pelo experimentar: desenhar ato, trabalho, sugere
pesquisa, escolhas (estas nem sempre conscientes) e aponta para mtodos e tcnicas que foi
sendo utilizada pelo sujeito que desenhou. Ento o fenmeno criativo pode ser o resultado de
interligaes decorrentes da rede complexa de entrelaamentos aos quais criao est subme-
tida e nesse sentido no dispensa o trabalho, que est subordinado ao tempo.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
CHARLES SANDERS PEIRCE (1839-1914), In, FERRARA, 1993, p.107 , Lucrecia D Alessio. Olhar perifrico:
introduo, linguagem e percepo ambiental. So Paulo: EDUSP, 1993.
DEWEY, John. A arte como experincia . Trad. Murilo Otvio R. Lene, Ansio S. Teixeira e Leonidas G. de
Carvalho. So Paulo: Abril Cultural, 1980 (colees os pensadores).
FERRARA, Lucrecia D Alessio. Olhar perifrico: introduo, linguagem e percepo ambiental. So Paulo:
EDUSP, 1993.
FLUSSER, Vilm. Filosofia da caixa preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia. Rio de Ja-
15 Embora os manuscri tos l i terri os tenham si do os pri mei ros documentos para se estudar o processo de cri ao, a con-
tri bui o da pesqui sadora Cec l i a Sal l es (Professora do programa em Comuni cao e Semi ti ca da PUC/So Paul o- ver
SALLES, 2001 e 2006) traz i mportantes contri bui es ao tema quando se prope a pesqui sa i nterdi sci pl i nar com o fi m de
di scuti r o processo cri ador, ampl i ando o di l ogo sobre processo com as mani festaes art sti cas.
CI ANTEC
// 223 //
neiro: Relume-Dumar, 2002.
MUNARI, Bruno. Design e Comunicao visual. Contribuio para uma metodologia didtica. Martins Fontes,
So Paulo, 2001
SALLLES, Cecilia Almeida. Gesto inacabado: processo de criao artstica. 2. ed. 2001: Fapesp : Annablume,
2001.
_______________Redes da criao: construo da obra de arte. Editora Horizonte, Vinhedo, So Paulo, 2006
SANTAELLA, Lucia. Semitica Aplicada. So Paulo: Thomson. 2004.
A TECNOLOGIA EM PROL DA EDUCAO CINEMA
AMBIENTAL COMO FERRAMENTA DE CONSCIENTIZAO DO
PBLICO UNIVERSITRIO
ISMAEL DE LIMA JUNIOR E MARY HEBLING DE LIMA
INTRODUO
O cinema, com sua tecnologia e imagens so capazes de nos dar sensao de estar em lugares
inimaginveis. Este um dos motivos pelos quais este trabalho apia-se na observao cada
vez maior do cinema, como veculo voltado para filmes ambientais, igualmente difundidos na
televiso brasileira. A princpio, tais filmes tm um carter de entretenimento, mas vm sendo
apresentado aos jovens tambm no contexto escolar por professores de diferentes reas; trata-se
de uma tentativa de formar a opinio dessa gerao e introduzir valores culturais para a conso-
lidao do ensino. Todavia, interessa-me investigar se, de fato, o seu emprego nesse contexto
atinge o objetivo do professor ou, ao contrrio, o espao do cinema na escola torna-se local
para recreao e gerador de indisciplina.
Pesquisas revelam que, (pesquisas realizadas por profissionais da Fundao Bradesco, em apos-
tila para treinar novos empregados, 2000), em termos percentuais aprendemos:
1% atravs do paladar; 1,5% atravs do tato; 3,5% atravs do olfato; 11% atravs da audio;
83% atravs da viso;
Nossa memria retm: 10% do que lemos; 20% do que escutamos; 30% do que vemos; 50% do
que vemos e escutamos; 70% do que ouvimos e logo discutimos; 90% do que ouvimos e logo
realizamos;
Diante desses dados, conclumos de imediato que o cinema, como recurso didtico e tecnolgico
pode ajudar muito e de maneira positiva no processo ensino-aprendizagem. Se os alunos podem
aprender 50% ouvindo e vendo, podero aumentar esse potencial para 90% se, logo em seguida,
realizarem, sob orientao, um trabalho relacionado com o filme assistido. Essa aprendizagem ser
ainda maior sob o efeito da msica que refora a fixao das cenas e comentrios.
O cinema, aqui denominado ambiental, tem potencial educativo. Ento, ele pode ser utilizado na
CI ANTEC
// 224 //
universidade como recurso no processo de ensinar e de aprender e desse modo, colaborar no
processo de integrao dos alunos e professores. Nessa dinmica, tem condies de incentivar os
professores a repensar a prtica pedaggica no sentido de criar espao para que, junto com os
alunos, possam transmitir e compartilhar sobre as questes ambientais. O uso dessa tecnologia,
embora muito conhecida ainda pouco difundida e utilizada de forma adequada na sala de aula.
A relevncia deste estudo, consiste no pressuposto de utilizar a arte cinematogrfica e a televiso nas
salas de aula; e atravs dela promover reflexes sobre a adequada utilizao dos mtodos audiovisu-
ais no que se refere ao cinema ambiental, para auxiliar na construo do conhecimento ambiental.
Pensar em construir conhecimento no campo da educao nos remete s teorias de autores que tem
contribudo com as propostas pedaggicas atuais tais como: Vygotski, Piaget, Wallon, entre outros.
Piaget compreende que o conhecimento tem atributos que so internos ao individuo; portanto,
construdo de dentro para fora. Por outro lado, Vygotski e Wallon destacam que o homem, sendo
um ser social, tem papel imprescindvel na sociedade, no desenvolvimento de suas capacidades
cognitivas e culturais que, alis, historicamente foram aliceradas na sociedade de seu tempo.
Pfromm Neto (2001) advoga que a escola, nestes ltimos anos, se prende a um sistema de ensi-
no muitas vezes precrio e imprprio para o contexto da sociedade atual, com relao a esses
sistema verbalista aplicado nas escolas atualmente, onde somente o professor fala e o alunado
simples receptor.
Cinema e televiso, esto intimamente inseridos nos hbitos e necessidades do mundo na atual
circunstncia do sculo XXI. Sobre essa magia tecnolgica MORIN (2002) apia idia que tais
invenes transformam o ambiente, envolvem as pessoas, revelam linguagens corporais e vi-
suais:
O vdeo parte do concreto, do visvel, do imediato, prximo, que toca to-
dos os sentidos. Mexe com o corpo, com a pele nos toca e tocamos
os outros, esto ao nosso alcance atravs dos recortes visuais, do close,
do som estreo envolvente. Pelo vdeo sentimos, experimentamos senso-
rialmente o outro, o mundo, ns mesmos[...] O vdeo sensorial, visual,
linguagem falada, linguagem musical e escrita. Linguagens que interagem
superpostas, interligadas, somadas, no separadas. Da a sua fora. Nos
atingem por todos os sentidos e de todas as maneiras. O vdeo nos seduz,
informa, entretm, projeta em outras realidades (no imaginrio) em outros
tempos e espaos. O vdeo combina a comunicao sensorial-cinestsica,
com a audiovisual, a intuio com a lgica, a emoo com a razo. Combi-
na, mas comea pelo sensorial, pelo emocional e pelo intuitivo, para atingir
posteriormente o racional. As linguagens de TV e do vdeo respondem
sensibilidade dos jovens e da grande maioria da populao adulta. So
dinmicas, dirigem-se antes afetividade do que razo. O jovem l o
que pode visualizar, precisa ver para compreender. Toda a sua fala mais
sensorial-visual do que racional e abstrata. L, vendo.
Com a fora desse recurso, como revela esse autor, pretendemos trazer para a sala de aula um
CI ANTEC
// 225 //
auxlio no processo educacional, na medida em que poderemos contar com mais um importante
instrumento para inserir a questo ambiental no s na Universidade, mas quem sabe em reas
educacionais do estado e municpio, como tambm procurar atingir maior nmero de indivduos em
outros espaos da educao no-formal.
A indstria do cinema sabe explorar com perfeio o lado sensorial, das pessoas; e desta forma,
tem conseguido atingir principalmente a populao mais jovem. Prova disso um documentrio
chamado A marcha dos Pingins. O retorno financeiro desse filme foi to bom que Hollyoody
j est investindo outros milhes de dlares na produo de outros documentrios ambientais
seguindo o exemplo desse primeiro.
Nesse mundo de espetculo visual, existe um pequeno segmento do campo educacional que so
os educadores; eles esto atentos para esses novos modelos voltados para criar novos para-
digmas. Com base em novos paradigmas, e estando na vanguarda dos movimentos educativos,
vrios educadores tm se preocupado em desenvolver mtodos de ensino que vo alm do
intelecto.
A esse respeito, MACHADO (2000, p. 220), fala da seguinte maneira, representando assim um
segmento de educadores:
Os educadores de forma geral esto cada vez mais cientes que apenas
o desenvolvimento de habilidades intelectuais menosprezando as emocio-
nais e criativas dos estudantes, pode ser prejudicial. Melhorar o autoconhe-
cimento, a criatividade e a sensibilidade interpessoal dos estudantes nas
salas de aula o que buscam os professores.
Assim, face s consideraes apresentadas e partindo do pressuposto de que o cinema de
contedo ambiental importante no processo educativo defendemos a hiptese de que a tecno-
logia em prol da educao pode ser uma feramente de extrema importncia para a construo
de novos conhecimentos.
Na medida em que os anos passam, o ser humano busca evoluir, busca alterar o seu status
quo. Da a necessidade de acompanhar a evoluo tecnolgica e os novos modelos de socieda-
de que nos so impostos a cada ano que entra.
O ensino da arte constituir componente curricular obrigatrio da educao bsica, de forma a
promover o desenvolvimento cultural dos alunos. (LDB 9.394/96 art. 26 2)
A arte cria e abre caminhos que ampliam o conhecimento do mundo, ofe-
rece condies para a expresso do ldico, do sonoro, do gesto, do mo-
vimento, do imaginrio. Por seu intermdio, a curiosidade despertada e
estimulada. (Norberto Stori).
A globalizao proporciona mudanas tecnolgicas, sociais, polticas, econmicas e ambientais
que acontecem de maneira extremamente rpida; e dessa forma a evoluo da sociedade, cria
problemas que o prprio ser humano, s vezes, no consegue solucionar. Esses problemas incluem
a falta de tica e de responsabilidade pelo planeta terra.
CI ANTEC
// 226 //
O aparecimento das indstrias gerou empregos, mas trouxe consigo a poluio. A evoluo tecnol-
gica do parque fabril reduziu a poluio, mas gerou desemprego. Desse fenmeno socioeconmico,
nascem dvidas de como agir e de como se adequar a um novo modelo social e econmico que
nos apresentado.
Acompanhamos o desenvolvimento mundial onde economias crescem dia aps dia. A cada se-
mana o petrleo bate um novo record no preo, vemos alguns dados importantes e preocupantes
da sociedade nesses ltimos anos. Por essa razo, importante estar a par do que se passa na
sociedade e obter o maior nmero de informao possvel. Na medida em que essas informaes
chegam ao nosso conhecimento, maior a possibilidade de trabalhar com elas junto comunidade
e maior ainda a chance de obter os melhores resultados quanto mudanas de comportamento.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
_____. Os sete saberes necessrios educao do futuro. 8 ed. So Paulo: Cortez, Braslia: UNESCO,
2003
Ambiental no Brasil: Materiais Impressos. So Paulo: Editora. Gaia, 1996.
ARAJO, Incio. O mundo em movimento. So Paulo: Editora. Scipione,1995
BARDIN, Laurence. Anlise de Contedo. Portugal: Edies 70, 1977.
BRANCO, Samuel Murgel, O meio Ambiente em Debate. So Paulo: Moderna, 1998. Coleo Polmica
CARNOY, Martin. Educao, Economia e Estado.So Paulo: 2 ed. Cortez Editorial. 1986.
CHARNEY, Leo; SCHWATZ, Vanessa R. (org) O Cinema e a Inveno da Vida Moderna. 2 ed.So Paulo:
Cosac & Naify:2004.
CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em cincias humanas e sociais. 7 ed. So Paulo: Cortez, 2005.
COIMBRA, Jos de vila Aguiar. O outro lado do meio Ambiente. Campinas: Millennium, 2002.
GATTI, Bernadete Angelina. Grupo Focal na pesquisa em Cincias Sociais e Humanas. Brasilia: Libertino
Editora, 2005.
JUNG, Carl G. O Homem e seus Smbolos. 17 impresso. Rio de Janeiro: Editora. Nova Fronteira, 1999.
MORIN, Edgar. A cabea bem feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 7 ed. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 2002.
NAPOLITANO, Marcos. Como usar o cinema na sala de aula. So Paulo: 2 ed. Editora Contexto: 2005.
NVOA, Antnio (org). Os Professores e a sua Formao. Lisboa: Publicaes Dom Quixote: 1997.
TRAJBER, Lucia; MANZOCHI, Lucia Helena.Coordenao. Avaliando a Educao
UNESCO. Dcada da Educao para um Futuro Sustentvel.Disponvel em: HTTP://www.oei.es/
decada\;compromisopt.htm. Acesso em 11 jul. 2007.
XAVIER, Ismail. A Experincia do Cinema. Coleo Arte e Cultura.Rio de Janeiro: Edies Graal: Embra-
filme: 1983.
REFERNCIAS ELETRNICAS
http://pt.wikipedia.org/wiki/Festival_Internacional_de_Cinema_e_V%C3%ADdeo_Ambienta l
http://www.ambientebrasil.com.br/noticias/index.php3?action=ler&id=1941 8
http://www.cultura.gov.br/noticias/noticias_do_minc/index.php?p=16358&more=1&c=1&pb= 1
http://www.ecopop.com.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=104&tpl=printerview&sid=1 0
http://www.fica.art.br/ultimasnoticias_023.ph p
http://www.funceb.org.br/revista7/06.pd f
http://www.futura.org.br/main.asp?View=%7BD913C70C%2D76A0%2D40B5%2D8DDC%2D1C5B6CE01BB
D%7D&Team=¶ms=itemID=%7BEEF9747F%2DFFBC%2D4163%2DAA90%2D775F5379C1C2%7D%3B
&UIPartUID=%7B4CC929EB%2DA3D4%2D412F%2DB19E%2D4212F800930B%7D
www.fica.ort.b r
http://www.ambiente.sp.gov.br /
CI ANTEC
// 227 //
PERCEPO DIGITAL E MEDIAES
JOO CSAR LOPES TOLEDO FILHO - UNIFIEO
PAULA CRISTINA VENEROSO - UNIFIEO
Nosso foco recai sobre os mtodos de elaborao e de conhecimento digital, notadamente no
que concerne s mudanas que devem ser operadas na forma de construo e de expresso das
informaes/mensagens.
Mais do que o domnio tecnolgico, o meio digital impe ao produtor uma retomada de com-
petncias lingsticas e cognitivas que se tornam relevantes para a atividade interativa que se
manifesta. Independente dos recursos utilizados, o produtor o agente responsvel em produzir
e/ou organizar o contedo de modo que este seja relevante para o usurio. Como produtor (ou
mero organizador) dos vrios contedos, sua capacidade de compor a narrativa maior consiste,
em princpio, na sua competncia comunicativa, que engloba aspectos cognitivos, lingsticos e
textuais. Isso significa, num primeiro momento, ajustar o
contedo s configuraes do meio digital, principalmente
quanto hipertextualidade e multimedialidade, haja vista
as relaes apresentarem-se conforme o seguinte esque-
ma:
O meio digital coloca o produtor de contedos frente a uma
realidade hipertextual, em que aspectos como a virtualida-
de do texto, a no-linearidade, a no-continuidade, a no-
centralidade e, claro, a possibilidade de interferncia do leitor/ usurio devem ser especialmente
considerados. De acordo com Johnson (2001, p. 84), o hipertexto, de fato, sugere toda uma nova
gramtica de possibilidades, uma nova maneira de escrever e narrar.
Diferente do que muitos inferem, essa nova maneira de escrever no diz respeito ao estilo, mas
sim estrutura textual: a ateno recai na organizao, na maneira de se compor a informao no
hipertexto. Explorar as infinitas possibilidades do hipertexto significa levar em considerao, no
momento da produo, alm dos padres tradicionais de construo da textualidade, aspectos
que transcendem a escritura, pois dizem respeito notadamente recepo dos textos no espao
virtual. Engloba ter em mente a no-linearidade, a volatilidade, a no-hierarquizao, a fragmen-
tao, a interatividade, em suma, tudo aquilo que ser proporcionado ao leitor durante a leitura-
navegao hipertextual e que far a diferena quanto ao propsito da informao.
Escrever para a web implica ter como referncia o fato de que o hipertexto no tem um centro, ou
seja, no tem um vetor que o determine. (...) Aquilo que num texto impresso pode ser tido como di-
gresso se torna o modus faciendi e o modus legendi do hipertexto. (MARCUSCHI, 2000, p.5). No
entanto, apesar de serem os links os responsveis por essa mudana no eixo hipertextual, se vistos
isoladamente, no passaro de elementos que tentam conectar informaes desconexas:
Como a palavra sugere, um link um elo, ou vnculo uma maneira de traar conexes entre coi-
sas, uma maneira de forjar relaes semnticas. Na terminologia da lingstica, o link desempenha
CI ANTEC
// 228 //
um papel conjuncional, ligando idias dspares em prosa digital. (JOHNSON, 2001, p. 84).
Para tanto, deve-se partir do pressuposto de que no so os links enquanto itens lexicais ou ex-
presses lingsticas , seja remetendo diretamente a outros textos, seja enviando por indexao
a banco de dados, os responsveis pelo processo de conexo, mas sim a finalidade, ou ainda, a
inteno da construo dos links a partir do conhecimento cognitivo do produtor. Sob tal perspec-
tiva, os links passam a ser considerados instrumentos interpretativos e no simples instrumentos
neutros e ingnuos de relaes constantes e estticas. (MARCUSCHI, 2000, p.6).
Versar a respeito dos propsitos dos links significa, antes de qualquer coisa, ater-se noo de
coerncia textual, considerando-a como princpio norteador da produo de contedo. Dado que
a coerncia definida em funo da continuidade dos sentidos, ela subjacente ao texto:
A coerncia, portanto, longe de constituir mera qualidade ou propriedade do texto, resultado
de uma construo feita pelos interlocutores, numa situao de interao dada, pela atuao
conjunta de uma srie de fatores de ordem cognitiva, situacional, sociocultural e interacional.
(KOCH, 1997, p. 41).
Em se tratando do ambiente digital, pode-se gerar infinitos roteiros de leitura ao permitir que o
leitor acesse diferentes nveis de informao, tendo em mente que assuntos relacionados podem
ser linkados, apontando para inmeros prosseguimentos, dependendo do grau de expecta-
tiva que se estabelece, do ponto de vista do produtor. Ao abolir a definio de seqncia e
de topicidade, permitindo a conexo entre textos (verbais e no-verbais) no necessariamente
correlacionados, passa-se a exigir do leitor maior conscincia quanto ao que se busca e, conse-
qentemente, maior grau de conhecimentos prvios. Essas exigncias, se no orientadas pelo
produtor, podem sobrecarregar o leitor, ocasionando o que se pode chamar de stress cognitivo
(MARCUSCHI, 1999, p. 22).
No que concerne produo de contedo hipertextual, implica considerar, dentre os muitos fatores
que corroboram para a construo da coerncia, os principais, quais sejam: os elementos lingsti-
cos, o conhecimento de mundo e o conhecimento partilhado, as inferncias, os fatores de contextu-
alizao, a situacionalidade, a intencionalidade e, principalmente, a informatividade, a focalizao,
a intertextualidade, a consistncia e a relevncia. Sob nosso ponto de vista, so esses os aspectos
que devem ser revistos sob a tica hipertextual na produo de contedo para o meio digital.
Portanto, mais do que o domnio tecnolgico, o meio exige uma outra concepo de compe-
tncias e saberes daquele que deve ter a capacidade de processar e de difundir mensagens
que integram diversos cdigos lingsticos textuais, sonoros, visuais que gozem de unidade
comunicativa. Talvez seja este o momento de considerar novos paradigmas para a produo de
contedo, justamente ao se considerar um propcio deslocamento do plo de observao: se antes
o foco era o produto, agora este recai para o processo e o processamento.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
JOHNSON, Steven. Cultura da interface: como o computador transforma nossa maneira de criar e comunicar.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.
KOCH, Ingedore G. V. O texto e a construo dos sentidos. So Paulo: Contexto, 1997.
CI ANTEC
// 229 //
MARCUSCHI, Luiz Antonio. Linearizao, cognio e referncia: o desafio do hipertexto. In: Lnguas e Instru-
mentos Lingsticos, v. 3. Campinas, 1999. Disponvel em: <http://www.uchile.cl/faculdades/filosofia/Editorial/
discurso_cambio/17Marcus.pdf>. Acesso em: 25 ago. 2008.
MARCUSCHI, Luiz Antonio. A coerncia no hipertexto. In: I Seminrio sobre hipertexto. Recife: UFPe, 2000. Dis-
ponvel em: <http://www.bbs.metalink.com.br/~Icoscarelli/Marcuschicoerhtx.doc>. Acesso em: 24 ago. 2008.
CORPO, HOMEOPATIA E VIDEOARTE
JULIANA ALVARENGA FREITAS - GRADUADA EM FARMCIA PELA UFMG COM ESPECIALIZA-
O EM HOMEOPATIA PELA AMHMG (ASSOCIAO MDICA HOMEOPTICA DE MINAS GERAIS)
E GRADUADA EM ARTES PLSTICAS PELA UEMG (ESCOLA GUIGNARD) COM ATUALIZAO EM
FILOSOFIA PELO PROGRAMA DE PS-GRADUAO DA FACULDADE DE FILOSOFIA DA UFMG.
RESUMO // A analogia pode ser pensada como transposio, deslocamento de relaes de um
campo especfico do conhecimento para outro. A partir da noo de apolneo e dionisaco em
Nietzsche, pode-se afirmar que linguagem a representao simblica e necessria do conheci-
mento. Essa linguagem-metfora atua como proteo contra a destruidora experincia dionisa-
ca, em que o sujeito est fundido com o objeto. No momento em que o sujeito se aparta do objeto,
a linguagem gerada atravs de uma elaborao racional do observador, at ento dissolvido
na embriaguez da experincia intuitiva. O corpo humano tambm se afirma criador de linguagens
ao manifestar alteraes funcionais caractersticas das doenas. O deslocamento de conheci-
mentos da rea mdica homeoptica para a arte utiliza a analogia para construir uma linguagem
imagtica, metfora do conhecimento que atravessou o corpo da artista nessa experimentao.
O desenvolvimento do vdeo DESENHO culmina na juno de imagens do corpo da autora com o
corpo do animal que produz a tinta nanquim, utilizada na produo do medicamento homeoptico
Sepia officinalis, indicado nos casos de afeces renais. A passagem de ultra-sonografias dos
rins para desenhos em nanquim retro-projetados no corpo, sendo a retro projeo fotografada
em slides e a projeo destes slides gravada em vdeo constitui uma metfora da dinamizao
princpio da homeopatia segundo o qual o aumento da diluio gera maior potncia. Aps a
realizao deste trabalho, exibido vrios festivais internacionais de arte, foram verificados efeitos
curativos em relao a problemas renais crnicos, tratados aqui no como verdade cientfica, mas
como fato potico. Este trabalho prope que seja verossmil que analogias entre cincia e arte
possam ampliar a potncia dos diversos campos do conhecimento.
PALAVRAS-CHAVE // corpo, linguagem, analogia, conhecimento, arte
RSUM // Lanalogie peut tre pense en tant que transposition, dplacement de relations dun
champ spcifique de la connaissance vers un autre. A partir de la notion dapollinien et de diony-
siaque chez Nietzsche, nous pouvons affirmer que le langage est la reprsentation symbolique et
ncessaire de la connaissance. Ce langage-mtaphore agit comme protection contre lexprience
dionysiaque destructrice, dans laquelle le sujet est confondu avec lobjet. Au moment o le sujet se
CI ANTEC
// 230 //
spare de lobjet, le langage est gnr par le biais dune laboration rationnelle de lobservateur,
jusqualors dissolu dans livresse de lexprience intuitive. Le corps humain saffirme aussi comme
crateur de langages lorsquil manifeste des altrations fonctionnelles caractristiques des ma-
ladies. Le dplacement des connaissances du domaine mdical homopathique vers lart utilise
lanalogie pour construire un langage imagtique, mtaphorique de la connaissance qui a travers
le corps de lartiste dans cette exprimentation. Le dveloppement de la vdeo DESENHO (DESSIN)
culmine dans la jonction dimages du corps de lauteur avec le corps de lanimal qui produit la tein-
ture de spia, utilise dans la production du mdicament homopathique Sepia Officinalis, indiqu
pour les cas daffections rnales. Le passage dultrasonographies des reins aux dessins en spia
projets sur le corps laide de rtroprojeteur, la rtroprojection tant ensuite photographie sur
diapositives et la projection de ces diapositives filmes en vdeo constitue une mtaphore de la
dynamisation prncipe de lhomopathie selon lequel laugmentation de la dilution engendre
une plus grande puissance. Aprs la ralisation de ce travail, exhib dans plusieurs festivals
internationaux darts, des effets de gurison de problmes rnaux chroniques ont t vrifis,
traits ici non comme vrit scientifique, mais comme fait potique. Ce travail propose quil soit
vraisemblable que des analogies entre science et art puissent largir la puissance des divers
champs de la connaissance.
MOTS-CL // corps, langage, analogie, connaissance, art
A analogia pode ser pensada como transposio, deslocamento de relaes de um campo espe-
cfico do conhecimento para outro. A partir da noo de apolneo e dionisaco em Nietzsche, po-
de-se afirmar que linguagem a representao simblica e necessria do conhecimento. Apolo
e Dionsio representam impulsos artsticos opostos e interdependentes e apenas da tenso entre
eles nasceria a arte. Apolo traz a medida na qual a beleza se torna proteo contra o sofrimento
inerente vida. O impulso de Dionsio revela um estado de embriaguez em que o indivduo est
fundido com o outro e com a natureza, o que lhe permite acesso direto ao conhecimento sem
a iluso da representao, da linguagem. Nele o artista se torna a obra de arte, sem o vu de
maia
16
, a mscara necessria para lidar com o terrvel da existncia e do conhecimento. Apolo,
como uma iluso magnfica (NIETZSCHE, 2005, p. 141), materializa a experincia dionisaca
do profundo, faz aparecer com nitidez a obra de arte. No momento em que o sujeito se aparta
do objeto, a linguagem gerada atravs de uma elaborao racional do observador, at ento
dissolvido na embriaguez da experincia intuitiva.
O corpo humano tambm criador de linguagens ao manifestar alteraes funcionais caracte-
rsticas das doenas e surge como espao onde o conhecimento se d, por onde passaro os
impulsos instintivos de Dionsio: O saber no mais suficiente como tal, ele acompanhado de
uma intuio orgnica. (BERGER, 2003, p. 43). Este saber com o corpo a essncia da home-
opatia, prtica mdica caracterizada pelo pensamento analgico, ao propor que caractersticas,
propriedades e mecanismos das substncias no ambiente em que so encontradas permanecem
semelhantes nos organismos vivos. Simlia slimibus curanter
17
, princpio fundamental da homeopa-
16 Do snscri to i l uso (NIETZSCHE, 2005. nota 22. p. 146)
17 Semel hante cura semel hante. P ara todas as refernci as sobre Homeopati a, ver CORREA; SIQUEIRA-BATISTA e QUIN-
CI ANTEC
// 231 //
tia, diz que a substncia que provoca a doena a mesma que provoca a cura.
Segundo o artista ingls Damien Hirst, [...] a medicina, como a arte, fornece um sistema de crena
que to sedutor quanto ilusrio. (MANCHESTER, 2000)
18
, deslocando a arte e a cincia para lon-
ge da demonstrao de uma verdade absoluta. A crena, adeso validade de uma noo qual-
quer (ABBAGNAMO, 2003, p. 218), que pode ser convico cientfica ou religiosa, necessria
para a criao. So as crenas que ambientam a nova realidade da criao, funcionando como um
espao potico que autoriza a mudana de perspectiva. Enquanto iluses, as crenas conformam
uma experincia com um conhecimento anterior linguagem. Intuitivamente o artista elege um fato
potico como guia do processo artstico, evitando a morte da tragdia, que segundo Nietzsche,
se d pela expulso de Dionsio.
Em um deslocamento de conhecimentos da homeopatia para a arte, utilizei a analogia para cons-
truir uma linguagem imagtica, metfora do conhecimento que atravessou o corpo da artista na
experimentao. O desenvolvimento do vdeo DESENHO tem origem com a passagem de ultraso-
nografias renais da autora para desenhos feitos com tinta nanquim em acetato, usado em aluso
gua. A tinta nankim, produzida pela spia officinalis (espcie de polvo) usada como meca-
nismo de defesa deste animal e como medicamento homeoptico de mesmo nome, indicado para
afeces renais. O animal se esconde atrs da tinta agitando-se para espalh-la na gua, como
os pacientes que melhoram com agitao intensa e exerccios vigorosos, sintoma de doenas
renais descrito na homeopatia.
Os desenhos foram retro-projetados nas costas da artista, as retro-projees fotografadas em
slides e a projeo desses slides gravada em vdeo digital. Com esta diluio do processo e do
desenho original, colocava-se em prtica outro princpio da homeopatia, o de potencializao:
a cada diluio do volume original da substncia aumenta-se a potncia da soluo resultante.
O DESENHO foi, assim, potencializado pela diluio do original em outras mdias. A seqncia
de imagens parte do plano fechado da pele at o plano aberto das costas, de parte do corpo
do polvo at todo ele projetado, uma transposio da lei de cura de Hering: o movimento que o
corpo faz pra se curar na direo da parte para o todo, de dentro para fora. Aps a realizao
e exibio desse trabalho em festivais internacionais de arte foram verificados efeitos curativos
permanentes sobre problemas renais crnicos da artista, tratados aqui no como verdade cient-
fica, mas como fato potico ser verossmil que analogias entre cincia e arte possam ampliar a
potncia de ambos os campos do conhecimento.
As construes pelas quais passa a pesquisa artstica demonstram o potencial de correlaes
com outras reas do conhecimento ou com outras perspectivas do conhecimento talvez devido
ao maior substrato da arte, a criao no submetida a uma finalidade prtica. A pesquisa sistem-
tica do artista em um mesmo universo, constitudo de idias e conceitos, coloca-o em posio de
melhor vislumbrar solues inovadoras por nunca temer o falso. O artista [...] considera o pros-
seguimento de seu modo de criar mais importante que a devoo cientfica verdade em qualquer
forma, por mais simplesmente que ela se manifeste. (NIETZSCHE, 2004, p. 116)
TAS, 1997.
18 For Hi rst medi ci ne, l i ke art, provi des a bel i ef system whi ch i s both seducti ve and i l l usory.
CI ANTEC
// 232 //
REFERNCIAS
ABBAGNANO, Nicola. Dicionrio de filosofia. So Paulo: Martins Fontes, 2003.
BERGER, Ren, Tornar-se os primitivos do futuro? In: DOMINGUES, Diana (org.), Arte e vida no sculo XXl:
tecnologia, cincia e criatividade. So Paulo:Unesp, 2003.
CORREA, A.D.; SIQUEIRA-BATISTA, R.; QUINTAS, L.E.M. Similia Similibus Curentur: notao histrica da
medicina homeoptica. Rev. Associao Mdica Brasileira, So Paulo, v. 43, n. 4, 1997. Disponvel em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-42301997000400013&lng=pt&nrm=is o>
Acesso em: 21 Abr 2007. Pr-publicao.
DOMINGUES, Diana (org.), Arte e vida no sculo XXl: tecnologia, cincia e criatividade. So Paulo:Unesp,
2003.
MANCHESTER, Elizabeth. Pharmacy 1992. Tate Online, 2000. Disponvel em: http://www.tate.org.uk/servlet/
ViewWork?cgroupid=999999961&workid=21809&searchid=5083&tabview=text
NIETZSCHE, Friedrich. O nascimento da tragdia: ou helenismo e pessimismo. Trad. J.Guinsburg. So
Paulo: Companhia das letras, 2005
NIETZSCHE, Friedrich. Humano demasiado humano. Trad. Paulo Csar de Souza. So Paulo: Companhia
da Letras, 2004
CARACTERSTICAS DE INTERAO E INTERATIVIDADE
PARA ARTE TECNOLGICA
LIGIA CAPOBIANCO -
A formao da World Wide Web - a rede mundial de computadores - a partir de 1991 firmou a
sociedade em rede no contexto da ps-modernidade de maneira definitiva. As novas tecnologias
de informao e comunicao, que renem recursos de hipertexto e hipermdia, abrangem a
maior parte das atividades econmicas, polticas e sociais. Alguns autores afirmam que est
ocorrendo uma revoluo digital e indicam o surgimento da Era Digital.
Nesse contexto ocorre a relao humano-computador com a finalidade de produzir e registrar
informaes para a construo de significados.
Entre as principais caractersticas das tecnologias de informao e comunicao esto as pos-
sibilidades de interao e interatividade que elas oferecem. Os conceitos esto sendo usados
indistintamente para indicar possibilidade de trocas de informao com o dispositivo eletrnico e
com as pessoas, no entanto, neste artigo, optou-se por diferentes significados. Segundo Belloni
(2003, p.58-59), interatividade uma caracterstica tcnica que significa a possibilidade do usu-
rio interagir com uma mquina. A autora define ainda o conceito de interao como ao recpro-
ca entre dois ou mais atores onde ocorre intersubjetividade, isto , o encontro de dois sujeitos que
pode ser direta ou indireta (mediatizada por algum veculo tcnico de comunicao).
Segundo Chacn (apud, Alava, 2002, p.39), as funes das tecnologias de informao e comuni-
cao so: tratamento da informao, interatividade e a comunicao.
As diferentes ferramentas da rede mundial de computadores permitem que se estabelea uma rela-
o de interatividade que compreende as possibilidades de armazenar, distribuir, pesquisar, utilizar
CI ANTEC
// 233 //
as informaes para finalidades educacionais, profissionais e tambm que se realizem processos de
interao, relacionados comunicao entre as pessoas.
Neste artigo, o termo interao est sendo utilizado para indicar relaes que envolvem a subjetivi-
dade do sujeito. Por subjetividade entende-se o que implica a individualidade do ser pensante e,
por extenso, a contingncia, o arbitrrio de seu conhecimento (interpretao, imaginao, juzo
pessoal). (Thines e Lempereur, 1984:871)
Ritter em My fingersgetting tired (apud, Wilson, 2002, p.739) argumenta que, se a arte interativa
se tornar um meio cultural e influente, todo o corpo - no apenas o dedo indicador -, precisa estar
envolvido na experincia esttica e interativa.
Ascott (2003, p. 266) cita, entre os fatores contribuintes para ruptura cultural, que a interatividade
a qualidade mais e mais buscada pelo pblico em todos os aspectos de produo, transporte, entre-
tenimento, educao, planejamento e arquitetura, bem como na arte. O autor considera ainda que a
interatividade permite que os indivduos participem inteiramente dos trabalhos de um sistema, quer
o sistema opere no nvel conceitual, comportamental ou ambiental e seja ele utilitrio ou artstico.
A participao do espectador, que adquire importncia crescente desde meados do sculo passado,
pode ser entendida como uma transformao da cultura, sociedade e uma exigncia das pessoas. A
arte tecnolgica insere-se neste contexto no qual abrem-se possibilidades para novas experincias.
A maior parte dos autores, concorda que a interatividade envolve a possibilidade de modificar a
forma e/ou contedo do ambiente em tempo real. Portanto, a interatividade constituinte do cibe-
respao e conseqentemente da cibercultura, pode ser considerada um fator determinante das
produes artsticas ou no presentes neste vasto campo de informaes.
Ascott (2003:377) define interatividade como a forma trivial um sistema fechado com um con-
junto finito de dados e a forma no-trivial tem uma capacidade ilimitada (open-ended) para aco-
modar novas variveis.
Marchand (1986:9) destaca que neste novo cenrio comunicacional ocorre mudana da lgica
da distribuio (transmisso) para a lgica da comunicao (interatividade). Ou seja, trata-se
da ruptura do modelo clssico de transmisso da informao, baseado na ligao emissor-men-
sagem-receptor. O emissor j no envia uma mensagem fechada, mas apresenta elementos e
opes que podem ser manipulados pelo receptor. Ao contrrio da mensagem que era emitida
de forma fechada, densa, paralisada, imutvel, hoje h um contexto aberto e amplo, no qual ela
passa a ser modificvel e respondente s solicitaes daqueles que a consultam.
A abordagem do termo interao proposta neste artigo, sugere que o indivduo apodere-se das ferra-
mentas tecnolgicas de maneira oposta da viso tecnocntrica na qual a tecnologia leva a mudan-
as na sociedade de modo a estabelecer a obrigatoriedade de seu uso; ao contrrio, a viso sugerida
antropocntrica na qual o ser humano exerce o domnio sobre sua aprendizagem e utilizao.
A aplicao das opes de interatividade e interao na criao e produo de arte tecnolgica
permite estabelecer relaes dinmicas e diferenciadas de tudo que j foi visto antes, pois alm das
propriedades reflexivas e comunicacionais que oferecem, possibilitam o envolvimento das pessoas
e atingem um pblico maior.
CI ANTEC
// 234 //
REFERNCIAS
ALAVA, Seraphin et al. Ciberespao e formaes abertas. rumo a novas tenologias educacionais? So Paulo,
Artmed, 2002.
ASCOTT, Roy. Telematic embrace: visionary theories of art, technology, and consciousness. edited and with
an essay by Edward A. Shanken. Berkeley: University of California Press, c2003.
BELLONI, Maria Luiza. Educao a distncia. 3.ed. Campinas, Autores Associados, 2003.
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. So Paulo: Paz e Terra, 2005.
DRUCKREY, Timothy. Ars Eletronica facing the future with Ars Eletronica. Massachusetts, MIT Press, 1999.
PREECE, J., ROGER, Y e SHARP, H. Interaction Design: beyond human-computer interaction. EUA, John
Willey @ Sons, 2002.
THINES, G e LEMPEREUR, Agenes. Dicionrio geral das cincias humanas. Portugal, Edies 70, 1984.
WILSON, Stephan. Information Arts Intersections of Art, Science and Technology. Massachusetts, The
MIT Press, 2002.
GRUPO KVHR: UMA HISTRIA ESCRITA A QUATRO MOS
MARCELO GUIMARES - GRADUADO EM ARQUITETURA E URBANISMO MESTRANDO EM
HTC - HISTRIA, TEORIA E CRTICA DE ARTE, PELO INSTITUTO DE ARTES DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL.
O presente artigo historiogrfico resumido em short paper, procura reviver a atuao do Grupo
KVHR, um coletivo de artistas ativo entre novembro de 1977 e maio de 1980 em Porto Alegre,
produzindo desenhos e inserindo-se ativamente no circuito de artes gacho, atravs de mostras,
exposies e divulgao de impressos distribudos em galerias e pelo correio, constituindo-se
em uma importante iniciativa de artistas locais, e uma das precursoras da arte postal no Brasil.
O KVHR, cujo nome provm da unio das iniciais dos sobrenomes dos seus integrantes: Kurtz,
Milton; Viega, Jlio; Haeser, Paulo e Rhnelt, Mrio - no foi ainda objeto de estudo acadmico
e, portanto encontra-se praticamente esquecido junto historiografia da arte, apesar de sua
intensa produo e importncia como um movimento coletivo e tambm como marco inicial para
as carreiras de Mrio Rhnelt e Milton Kurtz, que tiveram bastante projeo no eixo Rio-So Paulo
no inicio da dcada de oitenta, junto com Alfredo Nicolaiewsky. Entre os grupos de artistas de
Porto Alegre, do mesmo perodo, que tiveram grande destaque e estudo posterior, esto o Grupo
Nervo ptico (Abril, 1977 a Dezembro, 1978), e o Espao N.O. (Outubro, 1979 - Abril, 1982), que
tambm tiveram Kurtz e Rhnelt como integrantes ativos.
Fruto das amizades construdas durante o curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, o KVHR formou-se, sobretudo, pelo fascnio pela expresso grfica
atravs do desenho, com uma temtica voltada para os referenciais da cultura pop: quadrinhos,
cinema, literatura, artes grficas, publicidade e tambm pelo seu carter inusitado de produzir
obras a quatro mos, em que um complementava o esboo inicial do outro, explorando as possibi-
lidades das parcerias e das afinidades grficas.
Utilizando as canetas de nanquim caractersticas do desenho tcnico, desenhos a grafite, com giz
CI ANTEC
// 235 //
de cera, cpias Xerox e posteriormente reas chapadas com tinta acrlica, tudo sobre papel, as
figuras apareciam cheias de sensualidade, reverenciando corpos femininos, rostos conhecidos do
cinema americano, colocados em choque e contraste com hachurados quadriculados e padres
compostos por hexgonos, que lembram por vezes pavimentos arquitetnicos. Mesmo explorando
a nudez, a sexualidade evidenciada pelo grupo no se diferenciava muito do que era visto na
mdia de massa, o que no provocava opinies duras ou divergentes. Na verdade, a temtica pop
procurava agradar o grande pblico, sem apelos erticos chocantes, posicionamentos polticos
rebeldes, muito menos questionadores do mercado e do sistema das artes. Segundo Haeser, por
exemplo, mesmo vivendo uma poca de represso cultural imposta pela ditadura militar, o grupo
manifestou-se livremente e no teve problemas com a censura. Sua preocupao era muito mais
esttica do que poltica.
de se salientar que foi muito importante para a insero do KVHR no sistema das artes, a cuidadosa
organizao que o grupo dedicava s exposies incluindo a as aes de divulgao, relaes pu-
blicas, catalogao das obras, transporte, montagem das exposies e produo de textos e relea-
ses. Mesmo empenho, com responsabilidades profissionais, o grupo dedicou distribuio de suas
12 publicaes que, alm de elemento de divulgao, constituiu-se em uma bem sucedida iniciativa
de arte postal no Rio Grande do Sul. Em entrevista a Andra Paiva Nunes, em sua dissertao Todo
Lugar Possvel, A Rede de Arte Postal Anos 70 e 80, Mrio Rhnelt, diz que esses trabalhos eram
impressos em off set numa tiragem de mil exemplares distribudos pelo correio ou em galerias. O
que ia pelo correio se mandava para outros artistas, para instituies e museus (...) e tambm cabia
que as pessoas nos devolvessem os trabalhos com interferncias suas, costume bastante comum
na poca estas interferncias de vrios artistas. (in Nunes, 2002).
Kurtz foi um desenhista com uma tcnica refinada, ousado e desafiador das possibilidades do
desenho e da condio bidimensional do papel, que teve no KVHR o preldio de uma intensa pro-
duo individual, infelizmente interrompida em 1986, marcada pela forte sensualidade e erotismo
na representao do corpo em figuras por vezes conhecidas da mdia de massa, mas que rece-
biam outros significados ao serem recombinadas. Viega era apaixonado pelas figuras etreas e
melanclicas dos quadrinhos de fico cientfica, e se afinava muito com o desenho de Kurtz,
construindo figuras humanas atraentes e sensuais. Haeser se interessou pelas possibilidades
dos hexgonos organizados em padres por vezes distorcidos pela perspectiva, que serviam de
choque e rigor frente s figuras humanas orgnicas e delicadas e tambm cheias de ironia e bom
humor. Rhnelt era o mais especulativo do grupo, variando e testando novas tcnicas, entre elas
as cpias xerogrficas que mais tarde iriam nortear parte da sua trajetria individual, ao explorar
elementos arquitetnicos em reprodues fotogrficas e digitais, com alto contraste.
O grupo se desfez aps produzir intensamente para a exposio na Galeria de Arte do Centro
Comercial Joo Pessoa em maio de 1980 que foi a que melhor apresentou o grupo KVHR e sua co-
eso, bem como a sintonia adquirida atravs do desenho. No mesmo ms da exposio encerrava-
se tambm o ciclo de 12 impressos do KVHR que havia iniciado um ano antes. Entre eles, o nmero
12, o Ultimo, o que melhor combina uma gama de imagens referenciais da cultura pop com os
trabalhos dos 4 artistas, servindo como um resumo histrico de toda a sua trajetria.
CI ANTEC
// 236 //
BIBLIOGRAFIA
ALVES, MARCELO GUIMARES, KHVR: Uma histria escrita a quatro mos. Porto Alegre, 2008 Artigo e
captulo integrante de dissertao de mestrado em andamento, com o tema: Milton Kurtz: Aproximaes e
desvios com a Pop Art, Instituto de Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Orientadora: Maria
Amlia Bulhes.
CARVALHO, Ana Maria Albani de Nervo tico e Espao N.O.: A diversidade no campo artstico porto-
alegrense durante os anos 70. Porto Alegre: dissertao de mestrado (Ps-Graduao em Artes Visuais:
Histria, Teoria e Crtica de Arte). Instituto de Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1994.
Orientadora: Maria Amlia Bulhes, julho de 1994.
______ Nervo tico e Espao N.O.: artes visuais em Porto Alegre durante os anos 70. In BULHES,
Maria Amlia (Org.). Artes Plsticas no Rio Grande do Sul; Pesquisas Recentes. Porto Alegre: Ed. UFRGS,
(Col. Visualidades, n.1), 1995. pgs. 141-156.
______ Espao N.O., Nervo tico / organizadora Rio de Janeiro: FUNARTE, 2004 p.132 (Fala do Artista;
2) Vrios colaboradores.
COSTA, Cacilda Teixeira da; CORDEIRO, Waltemar, DIAS, Antnio; LEE, Wesley Duke; LEINER, Nelson;
Aproximaes do esprito pop: 1963-1968. So Paulo: mam, 2003. 175 p. : il
GOMES, PAULO. Artes plsticas no Rio Grande do Sul: uma panormica. Porto Alegre: Lahtu Sensu,
2007. 228 p.
LIPPARD, Lucy R. - A Arte Pop por Lucy Lippard e outros, So Paulo, Verbo, Editora da Universidae de
So Paulo, 1976
PECCININI, Daisy Valle Machado (org.) (1985). ARTE novos meios/multimeios Brasil 70/80. So Paulo:
Fundao Armando lvares Penteado.
NUNES, Andrea Paiva. Todo lugar possvel : a rede de arte postal, anos 70 e 80. 207 f. : il. Dissertao
(mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Artes. Programa de Ps-Graduao
em Artes Visuais, Porto Alegre, BR-RS, 2004.
SCARINCI, Carlos. Nervo tico. In Espao N.O., Nervo tico Rio de Janeiro: FUNARTE, 2004 p.132
(Fala do Artista; 2) Vrios colaboradores.
A PINTURA FRANCISCANA DOS SCULOS XVIII E XIX NA
CIDADE DE SO PAULO: FONTES E MENTALIDADE.
MARIA LUCIA BIGHETTI FIORAVANTI - ARTE- EDUCADORA - MESTRE EM ESTTICA E
HISTRIA DA ARTE MAC /USP
RESUMO // Propomos colocar algumas consideraes, que resultaram de um percurso de investi-
gao e reflexo sobre as pinturas produzidas em igrejas franciscanas da cidade de So Paulo,
durante o perodo que vai das ltimas dcadas do sculo XVIII metade do sculo XIX.
Esse tema corresponde a nossa pesquisa de Mestrado e engloba os forros pintados e os quadros
de trs edificaes paulistanas: a igreja conventual de So Francisco, a capela da Venervel Or-
dem Terceira do Serphico Pai So Francisco e a igreja e o coro do Mosteiro da Luz, este ltimo
um estudo indito, dada a inacessibilidade da edificao, localizada dentro da clausura.
O exame dessas pinturas e dos documentos existentes nos arquivos dessas instituies nos permi-
tiu estabelecer os motivos que levaram os religiosos da Ordem Franciscana, tanto frades e freiras
como irmos terceiros, a se tornarem seus comitentes e muitas vezes seus prprios autores, esco-
lhendo temas ligados s suas histrias.
Investigamos tambm as fontes destas produes artsticas, bem como a mentalidade que transita-
CI ANTEC
// 237 //
va no universo em que essas obras extremamente simblicas foram produzidas.
Um dos principais aspectos que decorreu do nosso estudo foi a verificao de que, no Brasil, os
franciscanos, usaram a arte como instrumento facilitador de sua ao evangelizadora, e como meio
de comunicao e converso.
Verificamos que uma arte simples de compreender e riqussima em contedos temticos, trazen-
do todas as caractersticas lusitanas quanto ao pensamento religioso e expresso da f, e tendo
como nica novidade a catequese destinada aos ndios, o que nos levou a pensar, na questo da
formao de identidades culturais diferentes que combinaram a espiritualidade portuguesa com a
nova realidade da Colnia.
No podemos pensar nessas manifestaes artsticas sem estabelecer o contexto em que foram
encomendadas e produzidas. Constatamos que, no perodo a que este estudo se refere houve
em So Paulo um avano que atingiu vrios segmentos da cidade, decorrente das polticas do
Morgado de Mateus no momento da restaurao da Capitania de So Paulo, o que certamente
possibilitou que as ordens religiosas reedificassem e ornamentassem suas igrejas.
Tambm descobrimos a singularidade da arte franciscana na cidade de So Paulo, delineada por
caractersticas prprias como a questo asctica que se reflete na forma, pelo despojamento que
faz parte do pensamento franciscano aliado s dificuldades tcnicas de produo artstica e a
fatores de ausncia de mestres de qualidade, seno episodicamente no caso da restaurao da
Capitania, resultando em composies bem diferenciadas das apresentadas pelos locais mais
desenvolvidos da Colnia.
Essas produes de arte-sacra podem ser pensadas, portanto, como uma criao artstica que
expressa aspectos da mentalidade e da cultura da sociedade paulistana, de um determinado
perodo, que repercutem at o momento contemporneo.
PALAVRAS-CHAVE // Histria Da Arte, Arte-Sacra, Artes Visuais, Pintura, Franciscanos, Arte Francis-
cana, Sculo Xviii, Sculo Xix, Iconografia Franciscana, Cidade De So Paulo.
ABSTRACT // I propose to bring up some considerations, which are the result of a process of investi-
gation and reflection about the paintings produced in Franciscan churches in the city of So Paulo
during the period encompassing the last decades of the 18th century to mid-19th century.
This theme corresponds to my masters thesis research and encompasses the painted ceilings
and the canvases of three buildings in So Paulo: the St. Francis Conventual Church, the chapel of
the Venerable Third Order of the Seraphic Father Saint Francis and both the choir and the church
of the Luz Monastery, the later being an unprecedented study, due to the inaccessibility of the site,
located within clausure.
The examination of these paintings and of the existing documents in the archives of these institu-
tions allowed me to establish the motives that led the religious members of the Franciscan Order,
whether friars, nuns or third brothers, to commit them and often being their authors, choosing themes
connected to their histories.
We also investigate the sources of these artistic productions, as well as the predominant mentality on
CI ANTEC
// 238 //
the universe within which these extremely symbolic works were produced.
One of the main factors brought up by my study was the verification that in Brazil the Franciscans
used art as a facilitation tool for evangelizing actions and as a means for communication and con-
version.
I verified that this is an art easy to be understood and extremely rich in thematic contents, carrying
all Portuguese characteristics in relation to religious thought and expressions of faith, having as
sole novelty the catechesis aimed at Indians, which led me to consider the issue of the formation
of different cultural identities that combined Portuguese spirituality with the new reality of the Co-
lony.
We cannot think of these artistic manifestations without establishing the context in which they were
commissioned and produced. I was able to verify that during the time period covered by this study
So Paulo underwent a developmental process that reached several segments of the city, in result
of Morgado de Mateus policies in the moment of the restoration of the Capitany of So Paulo,
which most certainly allowed the religious orders to rebuild and decorate their churches.
I also found out the singularity of Franciscan art in the city of So Paulo, outlined by unique cha-
racteristics such as the aesthetical issue conveyed by form, the lenient quality which is part of
the Franciscan thought allied to technical difficulties of artistic production and to the absence of
highly qualified professionals, with occasional exceptions, such as during the restoration of the
Capitany, resulting in compositions quite different from those found in more developed regions
of the Colony.
These productions of sacred art may be thought, therefore, as an artistic creation that expresses
aspects of the mentality and of the culture of So Paulos society in a given period of time, and
which still resonate in contemporary days.
KEY WORDS // History Of Art, Sacred Art, Visual Arts, Painting, Franciscans, Franciscan Art, 18th
Century, 19th Century, Franciscan Iconography, City Of So Paulo.
Algumas consideraes que resultaram da investigao e reflexo que fizemos
19
, sobre as pin-
turas produzidas, durante o perodo que vai das ltimas dcadas do sculo XVIII metade do
sculo XIX,
em igrejas franciscanas da cidade de So Paulo, indicam que essas produes de
arte-sacra podem ser pensadas como criaes artsticas que quando trazidas a pblico no mo-
mento contemporneo, ainda se encontram carregadas de caractersticas que repercutem no
s os aspectos da mentalidade e da cultura da sociedade paulistana do tempo em que foram
elaboradas, como tambm de elementos constitutivos das narrativas medievais que geraram a
iconografia da ordem e das gravuras flamengas e estampas de missais empregadas como modelo
pelos artistas e comitentes.
Com efeito, as fontes destas produes artsticas, a mentalidade que transitava no universo em
19 Esse tema foi focal i zado em nossa pesqui sa de Mestrado que engl oba os forros pi ntados e os quadros de trs edi fi caes
paul i stanas: a i grej a conventual de So Franci sco, a capel a da Venervel Ordem Tercei ra do Serphi co Pai So Franci sco e a
i grej a e o coro do Mostei ro da Luz, este l ti mo um estudo i ndi to, dada a i nacessi bi l i dade da edi fi cao, l ocal i zada dentro da
cl ausura. FIORAVANTI, Mari a Luci a Bi ghetti . A Pi ntura Franci scana Dos Scul os XVIII e XIX na Ci dade de So Paul o: Fontes
e Mental i dade. Ps Graduao Interuni dades em Estti ca e Hi stri a da Arte MAC /USP. So Paul o 2007
CI ANTEC
// 239 //
que essas obras extremamente simblicas foram produzidas, bem como o exame dessas pinturas e
dos documentos existentes nos arquivos dessas instituies, nos permitiram estabelecer os motivos
que levaram os religiosos da Ordem Franciscana, tanto frades e freiras como irmos terceiros, a se
tornarem seus comitentes e muitas vezes seus prprios autores, escolhendo temas ligados s suas
histrias.
Um dos principais aspectos apurados foi a verificao de que no Brasil os franciscanos, usaram
a arte como instrumento facilitador de sua ao evangelizadora, e como meio de comunicao e
converso ou seja a utilizao da Arte como retrica, para divulgar as devoes franciscanas e
os dogmas da Igreja.
Constatamos que uma arte simples de compreender e riqussima em contedos temticos, tra-
zendo todas as caractersticas lusitanas quanto ao pensamento religioso e expresso da f,
e tendo como nica novidade a catequese destinada aos ndios, o que nos levou a refletir, na
questo da formao de identidades culturais diferentes que combinaram a espiritualidade por-
tuguesa com a nova realidade da Colnia.
No podemos pensar nessas manifestaes artsticas sem estabelecer o contexto em que foram
encomendadas e produzidas. Com efeito, no perodo a que este estudo se refere houve em So
Paulo um avano que atingiu vrios segmentos da cidade, decorrente das polticas do Morgado
de Mateus
20
no momento da restaurao
21
da Capitania de So Paulo, o que certamente possibi-
litou que as ordens religiosas reedificassem e ornamentassem suas igrejas.
Tambm descobrimos a singularidade da arte franciscana na cidade de So Paulo, delineada por
caractersticas prprias como a questo asctica que se reflete na forma, pelo despojamento que
faz parte do pensamento franciscano aliado s dificuldades tcnicas de produo artstica e a
fatores de ausncia de mestres de qualidade,
seno episodicamente no caso da restaura-
o da Capitania, resultando em composies
bem diferenciadas das apresentadas pelos
locais mais desenvolvidos da Colnia.
Quanto importncia da gravura como fonte
das manifestaes pictricas franciscanas,
traz tona textos que remontam idade Mdia,
nos quais a iconografia tipicamente francisca-
na tem sua origem, uma vez que pintores e gra-
vadores neles se baseavam, pois na narrativa
literria que o carter miraculoso da imagem
fundamenta-se e o histrico do objeto artstico
define seu potencial de interveno
22
; a imagem produzindo efeitos como agente simblico.
Enfim, para exemplificar a pluralidade de olhares que pode estar contida atravs dos tempos em
uma manifestao artstica, escolhemos uma das pinturas do teto do coro da igreja luz, intitulada
20 Governou 1766-1776
21 Autonomi a Restaurada pel o Marques de Pombal em 14/12/1764
22 FREEDBERG, Davi d. The Power of Images. The Uni versi ty of Chi cago Press 1989 Chi cago. P. 188.
CI ANTEC
// 240 //
Os Estigmas (Coro da igreja da Luz SP. Data entre 1802 e 1821. Autoria Desconhecida) que retra-
ta a maior devoo franciscana na qual So Francisco comparado a um Alter Christus, pois os
estigmas so vistos como ferimentos idnticos s cinco chagas de Cristo, situadas nas mos, nos
ps e no lado direito.
Com efeito, a imagem do santo de Assis recebendo os estigmas constitui o centro da iconografia Fran-
ciscana, baseada na narrativa desse fato em textos dos primeiros bigrafos
23
do fundador da ordem,
sendo representada em pintura desde o sculo XIII tendo sido bastante utilizada no sculo XVI.
BIBLIOGRAFIA
ANDRADE, Mrio de. Padre Jesuno de Monte Carmelo. So Paulo: Livraria Martins Editora, 1944.
BELLOTO, Heloisa Liberali. Autoridade e conflito no Brasil Colonial: o Governo do Morgado de Mateus.
1755-1765. So Paulo: Secretaria de Estado e Cultura, 1979.
BOVE, Pe. Cristforo, O. F. M., Conv. Relator. Frei Antonio de Santana Galvo; (Antonio Galvo de Frana)
O. F. M, Desc. Biografia comentada, Vol. II, 5. So Paulo: Ed. Roma, 1993.
BRUNETTO, Carlos Javier Castro. Franciscanismo y arte Barroco em Brasil. Santa Cruz de Tenerife: 1996
CULTURAL, 3C para el Arte. Barroco Hispano Americano em Chile. Madri: Corporacion Talleres Grficos
Brizzolis, 2002.
FREEDBERG, David. The power of images. Chicago: The University of Chicago Press, 1989.
LE GOFF, Jacques. So Francisco de Assis. Rio de Janeiro: Record, 2005.
LEVY, Hanna. A pintura colonial no Rio de Janeiro: notas sobre suas fontes e alguns aspectos. Revista do
SPHAN. Rio de Janeiro, n. 6,1942.
MAXWELL, Kenneth. Marqus de Pombal: paradoxo do Iluminismo. So Paulo: Paz e Terra, 1996.
MENEZES, Ulpiano Toledo Bezerra de. Rumo a uma histria visual. Departamento de Histria. FFLCH/
USP. Verso II. So Paulo: 2005.
ORTMANN, Frei Adalberto O. F. M. Histria da antiga capela da Ordem Terceira da Penitncia de So
Francisco em So Paulo. So Paulo: DPHAN, 16,1951.
RWER, Pe. Dr. h. c.Frei Baslio O.F.M. Pginas da histria Franciscana no Brasil. So Paulo: Vozes,
1957.
TOLEDO, Benedito Lima de. Igrejas paulistanas de planta octogonal. Revista da Universidade de So
Paulo. So Paulo, n. 2, ago. 1986.
A TECNOLOGIA NO ENSINO DE ARQUITETURA
ARQUITETO, PROF. MSC. NIERI SOARES DE ARAUJO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MA-
CKENZIE, SO PAULO
ARQUITETO, PROF. DR. WILSON FLRIO UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE, SO
PAULO / UNICAMP
RESUMO // No ensino clssico do curso de arquitetura e urbanismo, as atividades prticas eram
desenvolvidas geralmente em atelis. O apoio de outras disciplinas fortaleciam o desenvolvimento
do projeto. Na dcada de 90 do sculo XX, as pessoas passaram a ter facilidade na aquisio e
uso de computadores. As inovaes tecnolgicas aos poucos foram sendo agregadas nas corpora-
23 Tomas de Cel ano Vi da II ,211,I Fi oretti ,2 parte Consi deraes III.
CI ANTEC
// 241 //
es e nas instituies acadmicas. A pesquisa desenvolvida pelos autores investiga a importncia
das (TICs), das ferramentas digitais no processo de ensino no curso de arquitetura e urbanismo da
Universidade Presbiteriana Mackenzie. Apresenta por meio de experimentos desenvolvidos pelos
alunos a relao da produo digital e dos materiais provindos do suporte fsico. Diante das trans-
formaes tecnolgicas, o controle e organizao da informao na base de dados da web inten-
sificou a visibilidade de seus projetos. Por fim, a pesquisa afirma a importncia do suporte fsico
integrado ao suporte digital no processo de criao do aluno de arquitetura.
PALAVRAS-CHAVE // TIC;Computao Grfica; Processo de Projeto; Experimentao.
ABSTRACT // Traditionally, education in architecture and planning involved practical activities gene-
rally developed in ateliers. The design was enriched through the support of other disciplines. In
the 1990s of the last century, people started to gain access to computing means and tools, parti-
cularly though the acquisition and use of personal computers. Technological innovations restricted
to a few started to be integrated into corporations as well as academic institutions. The research
developed by the authors investigate the importance of the ICTs, the digital tools involved in the
process of teaching and learning in architecture and planning, specifically in the Mackenzie Pres-
byterian University. It presents, by means of experiments developed by the students, the relation
between digital production and the materials that appear from the physical support. In the face
of technological transformations, control and organization of the information in the web database
intensified the visibility of projects. Last but not least, the research reaffirms the importance of
integrating the physical support to the digital support in the process of creation of architectural
students.
KEY-WORDS // ICT; Computer Graphic; Design Process; Experimentation.
INTRODUO
Nas atividades acadmicas o modelo clssico no ensino de arquitetura e as novas tecnologias
aos poucos foram se interagindo no processo pedaggico nos anos 90 do sculo XX. Notou-se
que as ferramentas digitais transformaram profundamente o modo de pensar e refletir dos alunos,
interferindo de maneira direta e consistente o processo de criao.
Segundo John Dewey (1859-1952) filsofo, psiclogo e educador norte-americano, a cultura re-
flexiva que representa a criao de uma nova postura no cnone educacional diante um novo
pensamento pedaggico contemporneo(1), a tecnologia facilitou as simulaes e investigaes
projetuais por meio dos experimentos. Dewey afirma que diante um problema, o aluno no ato de
pensar deve promover a experimentao de vrias solues, at que o teste mental aprove uma
delas(1).
Os alunos so estimulados a criar vrias propostas de seu projeto a uma percepo crtica e de-
senvolvimento do seu repertrio quanto compreenso das caractersticas dos materiais, da mani-
pulao e simulaes digitais e seus limites de aplicao.
Exercita fundamentos de geometria, proporo, escala e modulao. Interage em todo o processo de criao
CI ANTEC
// 242 //
respeitando e vivenciando uma metodologia aplicada nas etapas da construo do projeto, das partes ao todo.
A ferramenta digital deixa de ser um meio regrado e passa a ser um meio de aes cognitivas viven-
ciadas pelos alunos. Por esse vis possvel identificar a natureza da ferramenta digital como um
agente colaborador no enriquecimento do repertrio discente, por muitas vezes questionada pelos
educadores onde resumem o desenho digital como um produto final para apresentao ou uma
ao conflitante no processo projetual.
A prtica do experimento estimula o aluno a investigar infinitas possibilidades de resultados geral-
mente impraticveis com recursos exclusivamente pelo suporte fsico.
EXPERIMENTAO PROJETUAL DOS ALUNOS DE ARQUITETURA MACKENZIE
Na reviso e atualizao pedaggica no ensino de arquitetura percebeu-se a necessidade de
uma aproximao maior das disciplinas de projeto e computao grfica. As ferramentas digitais
deixaram de ser ensinadas de forma especfica, isoladas entre si e entre as demais disciplinas do
curso e passaram a ter um papel decisivo processo de pensar sobre o projeto.
O aluno inicia seus experimentos com auxlio do modelo fsico, o que permite compreender siste-
maticamente a geometria em desenvolvimento. Esta investigao est diretamente atrelada aos
croquis que registram no suporte fsico as vrias etapas que explicitam suas solues (Figura 1).
O modelo digital gerado em um programa computacional atua como uma extenso de nossas
capacidades cognitivas, cuja interatividade fundamental para estender nossas capacidades
de raciocnio durante o processo de projeto(2). Por intermdio das possibilidades da utilizao
das ferramentas grficas possvel criar elementos arquitetnicos por muitas vezes complexas
ou at mesmo inviveis pelos meios tradicionais, ou seja, pela produo de modelos fsicos
(Figura 2).
Compete ao aluno tomar a deciso e identificar os limites dos meios disponveis para o desenvol-
vimento de suas atividades. Essa diversidade dos meios fsicos e digitais como recursos na pro-
duo de projeto e toda a representao grfica no curso de arquitetura, transformou e continua
nos dias atuais interagindo no comportamento dos alunos. O fator tempo, a multitarefa, a mobilida-
de e os meios de comunicao so conseqncias da tecnologia presente em toda a sociedade.
Com o surgimento dos portais e novos servidores de hospedagem estimulou e promoveu a criao de
home pages corporativas e acadmicas. Esse comportamento provocou um processo de digitalizao
das bases iconogrficas, projetos e documentos em geral para possvel publicao na web(3).
Na rotina das atividades acadmicas a virtualizao das informaes pela educao a distncia
(EaD), promoveu uma nova relao entre o professor e o aluno. A dinmica das atividades passaram
a ser colaborativa, alm da publicao por parte do professor do plano de ensino e a seqncia das
aulas, a EaD fornece a possibilidade da realizao de fruns de discusso onde tempo e espao tem
outra conotao no processo de ensino. A ferramenta utilizada o MOODLE (Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment) criada pelo australiano Martin Doughiamas (Figura 3).
A pesquisa identificou a importncia dos recursos tecnolgicos emergentes na educao. A va-
CI ANTEC
// 243 //
lorizao e integrao no processo do ensino de arquitetura dos meios tradicionais e digitais, e a
responsabilidade por parte do educador em concatenar pedagogicamente esses meios.
A Internet permite a visibilidade de toda a produo acadmica e conseqentemente a possvel
troca de experincias das mais diversas culturas, enriquecendo o repertrio de todo corpo discente
e docente.
A valorizao e o conhecimento das tcnicas tradicionais so importantes no aprendizado das fer-
ramentas computacionais, principalmente quando se trata da criao de desenhos e dos modelos
arquitetnicos. Com isso, a reflexo e a tomada de deciso por parte do aluno ser fundamental
no processo de ensino.
FIGURAS
FIGURA 1 1.A: EXPERIMENTAO FSICA COM ESTUDO CROQUIS E MODELO; 1.B: INVESTIGAO DO MODELO FSICO; 1.C: MODELO
FINALIZADO COM REFERNCIAS ESTRUTURAS, VEDAES E ABERTURAS. FONTE: AUTORES.
FIGURA 2 2.A: ATIVIDADE REALIZADA EM LABORATRIO; 2.B: INVESTIGAO DO MODELO DIGITAL EM CAD; 2.C: DETALHAMENTO
MODELO COM FERRAMENTA BIM (BUILDING INFORMATION MODELING). FONTE: AUTORES.
CI ANTEC
// 244 //
ZIGURA 3 3.A: INTERFACE EAD MOODLE; 3.B: RELAO DOS ALUNOS ON LINE; 3.C: COMPARTILHAMENTO DAS ATIVIDADES
ACADMICAS. FONTE: AUTORES.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
1. GOMES, J.B.; CASAGRANDE, L.D.R. A Educao Reflexiva na Ps-Modernidade. USP, 2002, Ribeiro
Preto.
2. FLORIO, W. ; ARAJO, N. S. A Importncia da Tecnologia da Informao e de Modelos 3D/4D no Pro-
cesso e Gesto de Projetos em Arquitetura. In: VI Encontro Tecnolgico de Engenharia Civil e Arquitetura
ENTECA, 2007, Maring.
3. FLORIO, W. ; SEGALL, Mario L.; ARAJO, N. S. Gesto de Projetos Arquitetnicos em Espaos Virtuais
e Prototipagem Rpida. NUTAU - Ncleo de Pesquisa em Tecnologia da Arquitetura e Urbanismo da Uni-
versidade de So Paulo, 2008, So Paulo.
O CRESCIMENTO DA PROPAGANDA NAS REDES SOCIAIS.
PAULA RENATA CAMARGO JESUS. DOUTORA EM COMUNICAO E SEMITICA/PUC/SP.
PROFESSORA NA UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE; UNISANTA; UNIVERSIDADE MU-
NICIPAL DE SO CAETANO DO SUL.
GIOVANNA CAPPOMACIO. ESPECIALISTA EM PUBLICIDADE E MERCADO POTICAS VERBAIS
PELA ECA/USP. PROFESSORA NA UNISANTA E UNIP/SANTOS SP.
Por meio das redes sociais, como o Orkut, a propaganda digital cresce a cada dia. Para se ter
uma idia, em janeiro de 2008, os internautas passaram 7,5% de seu tempo em redes sociais. O
Brasil lidera a lista de pases com o maior nmero de usurios nessas redes. A propaganda digital
quer o internauta. Portanto, o anunciante, como a indstria farmacutica que surgiu nos anncios
em bondes e nos outdoors, hoje est em todas as mdias e, na internet, apresenta-se em sites,
farmcias virtuais, second life e nas redes sociais.
PALAVRAS-CHAVE // redes sociais, histria da propaganda, mdia convencional, mdia digital.
A internet ou mdia digital considerada uma mdia que rene elementos hbridos, interao em tem-
CI ANTEC
// 245 //
po real e possibilidade de controle do meio, de acordo com as preferncias do usurio. Com a Web
2.0, tambm conhecida como web participativa, surgem as redes sociais, um fenmeno no Brasil. A
pesquisa realizada em 16 pases pela MTV Networks e Microsof
t24
, apontou que os jovens brasileiros
de 14 a 24 anos so os que tm o maior nmero de amigos virtuais em comunidades on-line, sendo o
Orkut uma das principais redes sociais utilizadas pelos entrevistados, e que, detm o maior nmero
de usurios no Brasil, fenmeno que fez do pas, lder em tempo de permanncia na internet
25
.
Por meio das redes sociais, a propaganda digital cresce a cada dia. Para se ter uma idia, em
janeiro de 2008, os internautas passaram 7,5% de seu tempo em redes sociais, ou seja, o Brasil
lidera a lista de pases com o maior nmero de usurios nessas redes.
LEVY refora esse conceito:
O apetite para as comunidades virtuais encontra um ideal de relao hu-
mana desterritorializada, transversal, livre. As comunidades virtuais so os
motores, os atores, a vida diversa e surpreendente do universal por con-
tato. (1999,130).
Segundo o Ibope NetRatings
26
, o Brasil o pas que apresenta o maior nmero de pginas vistas
por usurio em redes sociais, somente no ms de abril/2008 foram contabilizadas 1.868 pginas
vistas por usurio, confirmando a afinidade dos brasileiros com as redes sociais.
Alm do Orkut, existe tambm o Facebook, My Space, onde, por exemplo, possvel comparti-
lhar fotos e vdeos, adicionar aplicativos, participar de fruns, interagir com opinies prprias,
conhecer pessoas e gerar oportunidades de negcios. Com uma maior permanncia de tempo
internet possvel conhecer grupos especficos de usurios que participam de comunidades,
fruns e, atravs das discusses, postagens acompanham as necessidades e aspiraes so-
bre determinado produto/servio. No Brasil, j so vrias as empresas que investem em redes
sociais. Exemplo disso a Pfizer, lder mundial na indstria farmacutica, que investe alto em
marketing e na propaganda na mdia de massa. A Pfizer destina parte de seu investimento na
propaganda digital: site, e-mail mkt, second life e, atualmente, tem vrias comunidades no Orkut,
tanto de funcionrios quanto de usurios (Eu adoro trabalhar na Pfizer; Sade animal; Famlia
Pfizer; etc) todas destacam a marca Pfizer.
Conforme PINHO:
... os consumidores sero conhecidos pelos seus nomes... com o adven-
to da Internet. Nela, a publicidade on-line, poder se transformar em uma
valiosa ferramenta de comunicao persuasiva e ainda possvel de ser di-
rigida, de modo personalizado e individualizado, para os consumidores e
prospects de produtos, servios e marcas. (2000, 101).
Outro estudo encomendado pela Nokia
27
intitulado A Glimpse of the Next Episode (Uma olhada no
24 Fonte: http://tecnol ogi a.terra.com.br/i nterna/0,,OI1784983-EI4802,00.html Portal Terra Networks, em 30/07/2007.
25 Fonte: http://www.bl uebus.com.br/show/2/78156/recorde_18_mi l hoes_de_brasi l ei ros_usaram_a_web_em_j unho_di z_i bo-
pe - Portal Bl ue Bus em Novembro/2007.
26 Fonte: http://www.i bope.com.br/cal andraWeb/servl et/Cal andraRedi rect?temp=6&proj =Portal IBOPE&pub=T&nome=pesq
ui sa_l ei tura&db=cal db&doci d=AF65F46539B160A58325746D005968AC Ibope NetRati ngs, acessado em j unho/2008.
27 Fonte: http://nseri es.com/entertai nmentstudy/ Noki a acessado em novembro/2007.
CI ANTEC
// 246 //
prximo episdio), com objetivo de diagnosticar como os indivduos entre 18 e 34 anos lidam com o
entretenimento no mundo digital, revelou que 52% desses entrevistados so usurios regulares de
redes sociais, confirmando o xito do Orkut, Facebook, MySpace, entre outros.
A possibilidade de interagir com outras pessoas, compartilhando interesses comuns, visando troca
de experincias, so elementos presentes na web 2.0, mas esse agrupamento social em ambiente
digital, no pretende substituir o convvio real das pessoas, mas sim, a busca de uma forma adi-
cional de interao entre indivduos. Da mesma forma como acontece com os meios tradicionais
e as novas mdias. Conforme a afirmao de PINHO: Apesar de suas evidentes vantagens como
meio de comunicao, a internet no deve substituir os tradicionais instrumentos de comunicao
publicitria. A prpria histria da evoluo dos meios de comunicao tem mostrado que o surgi-
mento de outro veculo no acarreta o inexorvel desaparecimento do anterior. (2000, 107).
A ns, no cabe previso ou julgamento, mas o bom senso de reconhecer o interesse cada vez
maior de pessoas e, consequentemente dos negcios da propaganda, nas questes que levam
convergncia das mdias.
BIBLIOGRAFIA:
LVY, P. Cibercultura. SP: Editora 34, 1999.
PINHO, J. B. Publicidade e vendas na Internet: tcnicas e estratgias. SP: Summus, 2000.
SANTAELLA, Lcia. Por que as comunicaes e as artes esto convergindo? So Paulo: Paulus, 2005.
Internet: http://www.bluebus.com.br/show/2/78156/recorde_18_milhoes_de_brasileiros_usaram_a_web_
em_junho_diz_ibope acessado em Novembro/2007.
http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=6&proj=PortalIBOPE&pub=T&db
=caldb&comp=pesquisa_leitura&nivel=Anlises%20e%20ndices&docid=AF65F46539B160A58325746D
005968AC acessado em Junho/2008.
http://nseries.com/entertainmentstudy / - acessado em novembro/2007.
http://tecnologia.terra.com.br/interna/0,,OI1784983-EI4802,00.htm l - acessado em novembro de 2007.
http://netart.incubadora.fapesp.br/portal/Members/pare_propaganda/document.2006-05-22.362623189 8.
- acessado em julho/2008.
DA LIBERDADE, PROBABILIDADE E NECESSIDADE: O
APARELHO E SUAS POSSIBILIDADES.
RAPHAEL DALLANESE DURANTE - UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE (UPM) - PRO-
GRAMA DE MESTRADO EM EDUCAO, ARTE E HISTRIA DA CULTURA - BACHAREL EM DESIGN
GRFICO, CENTRO UNIVERSITRIO BELAS ARTES DE SO PAULO
RESUMO // Um dos ensaios mais importantes publicados por Vilm Flusser , sem dvida Fr eine
Philosophie der Fotografe, traduzido para o portugus como Filosofia da caixa preta: ensaios para
uma futura filosofia da fotografia. Nele, o autor teoriza sobre o universo dos aparelhos digitais, to-
mando como ponto de partida e fio condutor de seu pensamento, o aparelho fotogrfico; pois pode
servir de modelo para todos os aparelhos caractersticos da atualidade e do futuro imediato. [ainda:]
CI ANTEC
// 247 //
Analis-lo mtodo eficaz para captar o essencial de todos os aparelhos, desde os gigantescos
(como os administrativos) at os minsculos (como os chips)
28
. Alm de enfatizar a importncia de
uma conceituao precisa, Flusser ensaia captulos sobre o modo de ser de tais aparelhos e oferece
grande contribuio para entendermos o modo com o qual aparelho e homem jogam, trazendo
tona o que ele mesmo chama de conceitos-chave: imagem, aparelho, programa, informao
29
. Tais
conceitos formam as pedras angulares de toda filosofia da fotografia ou Filosofia do Aparelho. Con-
tudo, o presente texto pretende apresentar focando os argumentos nos conceitos de aparelho e
programa uma maneira de analisar o fenmeno da determinao de uma possibilidade em um
jogo entre homem e aparelho. Para tanto, faz-se necessrio a compreenso do aparelho como uma
caixa preta, pronta para o enfrentamento aparelho-fera que traz em seu programa possibili-
dades de jogo pr-inscritas que dependem de algumas variveis para serem determinadas. Quais
so as variveis que implicam esse fenmeno?
ABSTRACT // One of the most important essays published by Vilm Flusser is Fr eine der Philoso-
phie Photograph, translated into English as Towards a Philosophy of Photography. In this work,
the author theorize about the universe of digital apparatus, taking as a starting point and center of
their thinking, the photographic apparatus; it can work as a model for all apparatus characteristic
of the present and the immediate future. [yet:] Analyze it, is an effective method to capture the
essence of all apparatus, from the huge (as the administrative) to the tiny (as the chips). Beside
the fact that he emphasizes the importance of a precise definition, Flusser use to create chap-
ters about what exactly is an apparatus and offers great contribution to understanding the way
in which man and machine play, bringing to the present what he calls the key concepts: image,
apparatus, program, information. These concepts form the cornerstones of the whole philosophy
of photography or Philosophy of the Apparatus. However, this text is planning to present - focusing
the arguments on the concepts of apparatus and program - a way to analyze the phenomenon
of determining a possibility in a game between a man and a machine. To this, it is necessary to
understand the unit as a black box, ready for confrontation aparelho-fera which brings in its
program, pre-programated possibilities of games that depend on some variables to be determi-
ned. What are the variables involving this phenomenon?
Entre os textos conceitualmente mais densos e difceis de Vilm Flusser est certamente Filosofia
da caixa preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia. Nele, Flusser desenvolve uma re-
flexo estrutural e categrica sobre as principais questes relativas ao que ele mesmo chamava
de Ps Histria
30
. No 3 deste ensaio, encontra-se um subttulo denominado O aparelho. Se difcil
o texto sobre o aparelho, merc da complexidade de seu(s) objeto(s) e da nem sempre clara
exposio epistmica do autor, a habitual profundidade de anlise, potencializa tal dificuldade.
Ao longo do desenvolvimento da crtica, Flusser prope conceitos-chave para a compreenso de
seus propsitos, sendo eles: imagem, aparelho, programa, informao. E tendo como objeto de
28 FLUSSER, 2002: 19
29 Ibi d, p. 71.
30 Ver Fl usser, 1983. Ps Hi stri a. So Paul o: Duas Ci dades.
CI ANTEC
// 248 //
anlise os conceitos-chave: aparelho, programa e derivando destes uma nova possibilidade para
compreende-los trazendo como base para esse estudo os conceitos de: liberdade, probabilidade,
necessidade , que o presente artigo, mesmo que neste curto espao, cuidar.
Com efeito, certamente o leitor deve estar se questionando sobre o que devemos entender por
aparelho. Pois digo, de maneira imediata, que o objetivo central deste texto tentar, breve e jus-
tamente, propor uma possibilidade para esta compreenso e, deste modo, dar continuidade aos
pensamentos formulados por Flusser. Para tanto, observaremos rapidamente como o conceito de
necessidade pressupe a probabilidade e este pressupe a liberdade.
Realizaremos a proposio a partir desta passagem:
Querer definir aparelhos querer elaborar categorias apropriadas cultura ps-industrial que
est surgindo. Se considerarmos o aparelho fotogrfico sob tal prisma, constataremos que o estar
programado que o caracteriza. As superfcies simblicas que produz esto, de alguma forma,
inscritas previamente (programadas, pr-inscritas) por aqueles que o produziram. [Ainda:] O
nmero de potencialidades grande, mas limitado: a soma de todas as fotografias fotografveis
por este aparelho. A cada nova fotografia realizada, diminui o nmero de realizaes: o programa
vai se esgotando e o universo fotogrfico vai se realizando. O fotgrafo age em prol do esgota-
mento do programa [...] J que o programa muito rico, o fot- grafo se esfora por descobrir
potencialidades ignoradas
31
.
H, sem dvida, nesse jogo do homem contra o aparelho, no empenho do esgotamento das pos-
sibilidades pr-inscritas no programa, como nos diz Flusser, uma probabilidade que resulta de
um maior nmero de acasos favorveis; e, medida que aumenta essa superioridade numrica,
ultrapassando os acasos contrrios, a probabilidade aumenta em proporo e engendra um
grau superior de crena ou assentimento relativo determinao dessas possibilidades con-
tidas no programa do aparelho. Partimos para esta anlise, de acordo com a observao de
Flusser, de um plano de possibilidades finitas. Se um dado fosse marcado com um determinado
algarismo ou nmero de pintas em quatro de suas faces e com outro algarismo ou nmero de
pintas nas duas faces restantes, seria mais provvel voltar-se para cima uma das primeiras que
das segundas; mas, se tivesse mil faces marcadas do mesmo modo e apenas um diferente das
outras, a probabilidade seria muito maior, e mais firme e segura a nossa crena ou expectativa
na determinao do fenmeno.
Talvez esse processo mental ou raciocinativo parea trivial, mas para quem o considera mais a
fundo ele pode dar margem a interessantes especulaes. Passamos, deste modo, a considerar
como igualmente provvel o voltar-se de qualquer das faces para cima. E me parece que est
nesta operao a verdadeira natureza da liberdade, ou do acaso: tornar perfeitamente iguais e
equiprovveis a determinao de qualquer possibilidade pr-inscrita no programa do aparelho.
Aqui consiste a pressuposio da necessidade. A determinao de toda e qualquer possibilidade
se d ao acaso, por necessidade, num esforo para descobrir potencialidades ignoradas.
Embora dando preferncia ao mais usual e acreditando na determinao de um possibilidade, no
devemos esquecer todas as outras: preciso dar a cada uma delas um peso e autoridade parti-
31 Ibi d, p. 23.
CI ANTEC
// 249 //
cular, conforme haja mostrado com freqncia no passado. Talvez seja esse o modo de ser do jogo
entre homem e aparelho; este eterno retorno num empenho repetitivo para a realizao do objetivo:
esgotar as possibilidades. Aparelho brinquedo e no instrumento no sentido tradicional. E o ho-
mem que o manipula no trabalhador, mas jogador. E tal homem no brinca com seu brinquedo,
mas contra ele. Procura esgotar-lhe o programa
32
. Desta maneira, aparelho implica em automao
e jogo. Esse jogo, do homem contra o aparelho implica em variveis, sendo estas: possibilidade,
probabilidade e necessidade, pois esto implcitas no modo de ser desse jogo.
O decisivo em relao continuidade das formulaes propostas por Flusser captar e entender
as categorias fundamentadas pelo autor e oferecer ao leitor atento, novas maneiras de analisar o
fenmeno da determinao de uma possibilidade em um jogo entre homem e aparelho, bem como
novas proposies para a crtica do modo de ser do homem contemporneo.
REFERNCIAS
FLUSSER, Vilm. Filosofia da caixa preta: ensaio para uma futura filosofia da fotografia. Rio de Janeiro:
Relume Dumar, 2002.
SOCIEDADE CULTURA E ARTE
REGINA CLIA FARIA AMARO GIORA - Universidade Presbiteriana Macken-
zie - Doutora em Psicologia USP - Prof do Programa de Ps Gra-
duao em Mestrado em Educao, Arte e Historia da Cultura
RESUMO // O presente artigo busca apontar de forma sucinta a relao existente entre sociedade,
arte e cultura luz das contribuies tericas da Psicologia Sociohistrica e da Psicologia Ana-
ltica. A Arte entendida como um fenmeno cultural produzido pelo psiquismo humano desde
tempos imemoriais, graas complexidade do nosso crebro, que permitiu o desenvolvimento da
linguagem enquanto instrumento simblico de expresso e de comunicao. Para a teoria scio-
histrica, por meio da linguagem, o ser humano pode desenvolver todas as funes psquicas
superiores e foram essas as responsveis pela expanso da conscincia e, conseqentemente, da
criatividade. Por funes superiores, compreende-se, principalmente: o pensamento, a percep-
o, a vontade, a imaginao, a ateno, a memria. Essas so construdas ao longo da histria
social do homem em sua relao com o mundo e dependem fundamentalmente da aprendizagem.
Ao se apropriar do conjunto de sistemas simblicos de representao da realidade, produzido
pela cultura, o homem pode construir a interpretao do mundo e de si prprio. A principal ca-
racterstica da conscincia a intencionalidade, pois ela que organiza, ativamente a informaes
recebidas tanto pelo organismo, como pelo ambiente. O animal produto do determinismo biolgi-
32 Ibi d, p. 23 24.
CI ANTEC
// 250 //
co. Ele no cria nada. Tudo na histria da humanidade resultado da capacidade criadora do ser
humano. Para a Psicologia Analtica, a conscincia no se esgota na razo. Suas funes envolvem,
tambm a sensao, a intuio e o sentimento. A arte uma forma de conhecimento produzido
pela lgica do sentimento que se orienta pelo inconsciente individual e coletivo e no apenas pela
lgica da razo. Por isso mesmo, consegue ir alm das diferenas culturais e sociais e expressar
significados vividos por toda a histria da humanidade. , tambm, por essa razo que a arte
produzida numa poca, s em parte condicionada por fatores sociais e culturais. A arte influen-
cia, em parte, nosso forma de perceber e sentir o mundo e a ns mesmos. A fora arquetpica
da arte responsvel pela quebra do tempo e do espao. Pensar por meio de imagens, que so
impregnadas de elementos que escapam ao condicionamento da sociedade e da cultura, confere-
lhe uma autonomia impossvel de ser identificada em outras linguagens. Observa-se, entretanto,
que o inconsciente no algo separado do consciente. A sociedade no pode prescindir da arte
porque atravs dela que o homem conhece sua essncia esttica, tica e espiritual e que num
processo recorrente, se repete, indefinidamente, em todas as culturas. . A Arte que cria o homem
e tal como um espelho o reflete em todas as sua dimenses.
As obras de arte, reconhecidas pela sociedade, que mais perduram so aquelas que expressam
o profundo da essncia humana, que comum a todos, e que permite ao homem se reconhecer
como ser ativo, sensvel e reflexivo.
PALAVRAS-CHAVE// arte, sociedade, cultura, conscincia e criatividade
El presente artculo busca apuntar de forma sucinta la relacin existente entre sociedad, arte y
cultura segn las contribuciones tericas de la Psicologa Socio-histrica y de la Psicologa Ana-
ltica. El Arte es entendido como un fenmeno cultural producido por el psiquismo humano desde
tiempos inmemoriales, gracias a la complejidad de nuestro cerebro, que permiti el desarrollo del
lenguaje mientras instrumento simblico de expresin y de comunicacin. Para la teora socio-
histrica, por medio del lenguaje, el ser humano puede desarrollar todas las funciones psquicas
superiores y ellas fueron las responsables por la expansin de la conciencia y consecuentemen-
te, de la creatividad. Por funciones superiores, se comprende, principalmente: el pensamiento, la
percepcin, la voluntad, la imaginacin, la atencin, la memoria. Esas son construidas a lo largo
de la historia social del hombre en su relacin con el mundo y dependen fundamentalmente del
aprendizaje. Al apropiarse del conjunto de sistemas simblicos de representacin de la realidad,
producido por la cultura, el hombre puede construir la interpretacin del mundo y de si propio.
La principal caracterstica de la conciencia es la intencionalidad, pues ella es la que organiza
activamente las informaciones recibidas, ya sea por el organismo, o sea por el ambiente. El animal
es producto del determinismo biolgico. l no crea nada. Todo en la historia de la humanidad es
resultado de la capacidad creadora del ser humano. Para la Psicologa Analtica la conciencia no
se agota en la razn. Sus funciones involucran tambin la sensacin, la intuicin y el sentimiento.
El arte es una forma de conocimiento producido por la lgica del sentimiento que se orienta por el
inconsciente individual y colectivo y no slo por la lgica de la razn. Por ello mismo, logra llegar
ms all de las diferencias culturales y sociales y consigue expresar significados vividos por toda
CI ANTEC
// 251 //
la historia de la humanidad. Tambin es por esa razn que el arte producido en una poca, slo en
parte est condicionada por factores sociales y culturales. El arte influencia, en parte, nuestra
forma de notar y sentir el mundo y a nosotros mismos. La fuerza arquetpica del arte es responsable
por la quiebra del tiempo y del espacio. Pensar por medio de imgenes, que son impregnadas de
elementos que escapan al condicionamiento de la sociedad y de la cultura, le confiere una autono-
ma imposible de identificarse en otros lenguajes. Sin embargo, se observa que el inconsciente no
es algo separado del consciente. La sociedad no puede prescindir del arte porque es a travs de
l que el hombre conoce su esencia esttica, tica y espiritual, y que en un proceso recurrente, se
repite indefinidamente en todas las culturas. El Arte que crea el hombre y tal como un espejo lo
refleja en todas sus dimensiones.
Las obras de arte reconocidas por la sociedad, que ms duran son aquellas que expresan el pro-
fundo de la esencia humana, que es comn a todos, y que permite al hombre reconocerse como
ser activo, sensible y reflexivo.
PALABRAS-CLAVE // arte, sociedad, cultura, conciencia y creatividad,
A Arte entendida como um fenmeno cultural e social produzido pelo psiquismo humano,
capaz de provocar uma reao esttica. A Arte encontra-se presente na histria da humanidade,
desde tempos imemoriais, graas complexidade do nosso crebro, que permitiu o desen-
volvimento da linguagem, enquanto instrumento simblico de expresso e de comunicao de
pensamentos e sentimentos.
No seu nascedouro, a Arte pouco tem a ver com a beleza e nada com a contemplao esttica, com
o desfrute esttico. Era apenas um instrumento mgico, isto , um conjunto de signos, usados pela
coletividade humana, que garantia sua luta pela sobrevivncia. Essa era sua funo essencial.
Para a teoria sciohistrica, foi por meio da linguagem, em especial da linguagem artstica,
que o ser humano pode desenvolver todas as funes psquicas superiores responsveis pela
expanso da conscincia, entendida como uma categoria que ultrapassa a esfera do racional.
Por funes psquicas superiores compreende-se, principalmente: o pensamento, a percepo,
a vontade, a imaginao, a ateno, a memria. Essas so construdas ao longo da histria social
do homem em sua relao com o mundo e dependem fundamentalmente da aprendizagem. Ao
se apropriar do conjunto de sistemas simblicos de representao da realidade, produzido pela
cultura, o homem pode construir a interpretao do mundo e de si prprio. Por meio da linguagem
artstica pode dar sentido s experincias vividas ou apenas imaginadas, enriquecendo dessa
forma a prpria vida.
A Arte, tal como a compreendemos, contemporaneamente, desempenha vrias funes. Entre
elas destacam-se: gerar prazer esttico; ser instrumento de conscientizao poltica e social; ser
instrumento de sensibilizao, inclusive para a ao poltica; conduzir alienao; constituir-se
numa forma de conhecimento do ser humano nas suas mltiplas dimenses; possibilitar uma maior
compreenso do mundo e sua possvel transformao e estimular o desenvolvimento da capacida-
de criadora. Isso, sem perder a virtude da magia que lhe inerente.
CI ANTEC
// 252 //
Vejamos o que alguns artistas e intelectuais elencados por Morais, pensam a respeito da Arte.
Se queremos saber o que somos, precisamos compreender o que Arte, escreveu Faure, 1949.
Para Langer, 1966, a linguagem artstica a expresso da conscincia humana em uma imagem
metafrica nica. Gabo, 1962, observa que a funo da arte desenvolver a conscincia humana.
Para Argan, 1957, a arte no v satisfao dos desejos materiais, mas uma percepo mais
clara e eficaz das coisas, um modo mais lcido de estar no mundo. Para Mrio de Andrade, 1938,
a atividade artstica nos abre um dos caminhos penetrantes de introduo ao ser. O objetivo da
arte, para Castro, 1970 descobrir, conhecer e modificar o mundo. Para Eco, 1962 mais que
isso trazer complementos, formas adicionais s j existentes e desveladoras das prprias leis
e da prpria vida pessoal. Para Beuys, 1970, o desenvolvimento da conscincia humana j, ele
mesmo, um processo plstico.
Para a Psicologia Sciohistrica, a principal caracterstica da conscincia a intencionalidade,
pois ela que organiza, ativamente as informaes recebidas pelo organismo e pelo ambiente. O
animal produto do determinismo biolgico. Ele no cria nada. Tudo na histria da humanidade
resultado da capacidade criadora do ser humano. E o ser humano s se tornou criativo porque
foi capaz de desenvolver a conscincia.
A Psicologia Analtica tambm compreende a conscincia, como categoria que no se esgota
na razo. Jung apontou, como parte da conscincia, alm do pensamento, a sensao , a intui-
o e o sentimento. A Arte seria uma forma de conhecimento produzido pela lgica do sentimen-
to que se orienta pelo inconsciente individual e coletivo e no apenas pela lgica da razo. Por
isso mesmo, consegue ir alm das diferenas culturais e sociais, expressar significados vividos
por toda a histria da humanidade e antecipar o que est por vir. , tambm, por essa razo que
a Arte produzida numa poca, s em parte condicionada por fatores sociais e culturais. Para
Fiedler,1876, os artistas no devem dar expresso ao contedo da poca, mas sim, outorgar
contedo a essa poca. Andr Malraux dizia que a obra surge em seu tempo e de seu tempo,
mas ela se torna obra de arte por aquilo que lhe escapa.
A Arte influencia, nosso forma de perceber e sentir o mundo e a ns mesmos. A fora arque-
tpica da arte responsvel pela quebra do tempo e do espao. Sentir e pensar por meio de
imagens, que so impregnadas de elementos que escapam ao condicionamento da sociedade
e da cultura, confere-lhe uma autonomia impossvel de ser identificada em outras linguagens.
Exprimir-se artisticamente, requer elementos que vo alm do racional, pois o uso da imaginao,
fonte da criatividade, condio essencial para o artista. A imaginao o espao privilegiado
das fantasias e essas, so as expresses concretas das emoes. E, na imaginao, tudo pos-
svel. Freud foi o primeiro a tentar compreender a importncia da fantasia, do contedo simblico
das manifestaes artsticas apontando a fora criadora do inconsciente. Para ele, a necessidade
esttica do homem nasce da necessidade de viver fantasias que alteram o significado de suas
experincias cotidianas. A imaginao criadora do artista capaz de tornar visvel aquilo que
invisvel, de criar imagens onde no cabem as palavras, de criar sons e formas para exprimir sen-
saes, pensamentos e sentimentos. nas zonas desconhecidas do inconsciente que o artista vai
buscar a forma e o contedo que daro vida a sua produo, que em inmeras vezes, nem ele pr-
CI ANTEC
// 253 //
prio sabe explicar. Observa-se, entretanto, que o inconsciente no algo separado do consciente.
Pelo contrrio. Os processos que se iniciam no primeiro tm sua continuidade no segundo.
A sociedade no pode prescindir da Arte porque atravs dela que o homem conhece sua es-
sncia esttica, tica e espiritual e que num processo recorrente, se repete, indefinidamente, em
todas as culturas. A Arte cria o homem e tal como um espelho, consegue reflet-lo em todas as sua
dimenses.
As obras de arte, reconhecidas pela sociedade, que mais perduram so aquelas que expressam
a natureza humana, que comum a todos, e que permite que cada um se reconhea como ser
ativo, sensvel e reflexivo.
Essas so apenas algumas pinceladas sobre as relaes entre sociedade, cultura e arte sob duas
vises complementares da Psicologia Social.
REFERNCIAS
FISCHER, E. A necessidade da Arte. Rio de Janeiro. Ed. Guanabara.1987
FREUD, S. Obras Completas. So Paulo. Imago 1999
GIORA, R. Arqueologia das emoes. Petrpolis. Vozes, 1999
JUNG, C.G. O homem e seus smbolos. Rio de Janeiro. Nova Fronteira s/d
VZQUEZ, A. S. As idias estticas de Marx .Rio de Janeiro. Ed. Paz e Terra. 1978
VYGOTSKI, L. Psicologia Del arte. Barcelona. Barral Eds. 1972
MORAIS, F. Arte o que eu e voc chamamos arte. Rio de Janeiro. Record. 1998
A AULA DE ARTE COMO ESPAO DE ENCONTRO E
CONSTRUO HUMANA:O QUE ENSINAM OS MESTRES
ARTESOS DO BARRO?
SUMAYA MATTAR MORAES - PROF DR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARTES PLSTICAS DA
ESCOLA DE COMUNICAES E ARTES DA UNIVERSIDADE DE SO PAULO.
RESUMO // Este artigo um convite reflexo sobre o papel central que a arte e a educao desem-
penham no processo de construo humana, a partir da abordagem dos universos poticos de
duas mestras ceramistas, que, a despeito de toda dificuldade, vivenciam, h pelos menos cinco
dcadas, a genuna experincia criadora: Shoko Suzuki, e Isabel Mendes da Cunha. A aprendiza-
gem artesanal envolve princpios e valores ticos e humanos que ultrapassam a produo em larga
escala da sociedade industrial, bem como a reiterao de tcnicas e procedimentos didticos e
artsticos ainda muito observados nas propostas de ensino-aprendizagem da arte desenvolvidas
no espao escolar, oferecendo elementos fundamentais para o reencontro da dimenso humana
da arte-educao. Permeada pelo fazer conjunto e o dilogo, a conduo da aprendizagem de um
ofcio tradicional por um mestre arteso capaz de desencadear a prxis criadora nos aprendizes,
CI ANTEC
// 254 //
que, alm de sentirem satisfao com o trabalho, tambm passam a desenvolver um processo pro-
dutivo prprio, em que a experimentao, dirigida busca de novas possibilidades construtivas e
ao encontro de um caminho potico particular, convive harmoniosamente com a preservao de
saberes fundamentais transmitidos de gerao a gerao.
PALAVRAS-CHAVE // Formao de professores; Ensino-aprendizagem da Arte; Prtica de Ensino; Artes
Visuais; Cermica.
ABSTRACT // This paper is a call for reflection on the central role that art and education play in the
process of human building, from the approach of the poetical universes of two particular master
potters that, in spite of all difficulties, live through the genuine creative experience for at least five
years: Shoko Suzuki and Isabel Mendes da Cunha. Knowledge derived from the building of hand-
made artifacts encompasses ethical and humanistic principles and values that transcend not only
large scale production, typical of the industrial society, but also the reiteration of techniques
as well as didactic and artistic procedures, still present in the art teaching-learning proposals
developed within the school environment, thus revealing essential elements in the finding of the
humanistic dimension underlying art-education. Permeated by team production and dialogue, the
direction of traditional workmanship learning processes by a master artisan is capable of unle-
ashing creative praxis in the aprentices who, added to a job satisfaction feeling, will also develop
productive procedures on their own. In such processes, experimentation, directed both at seeking
new constructive possibilities and encountering an individual poetical path, cohabit harmoniously
with the preservation of essential knowledges passed on from one generation to another.
KEYWORDS // Training of teachers, teaching-learning the art; Practice of Education; Visual Arts;
Ceramics.
Tendo como objeto de estudo o potencial da aprendizagem pelo fazer na formao de pro-
fessores de arte, consideramos necessrio investigar prticas de ensino-aprendizagem da arte
pautadas em princpios humansticos, diferentes, portanto, daquelas reiteradamente ainda muito
observadas no espao escolar.
Com este propsito, consideramos a hiptese de investigar os
modos de transmisso de conhecimentos de artesos vinculados a uma determinada tradio,
considerando que em tais processos encontraramos elementos constitutivos de um tipo de for-
mao artstica que, no estando separada da vida vivida, fosse verdadeiramente significativa.
Essa hiptese, confirmada com a pesquisa, assentou-se na ausncia de dicotomia entre o tra-
balho e a sobrevivncia do arteso, ausncia essa que o permite ter com o mundo uma relao
mais satisfatria que a de trabalhadores que vendem anonimamente sua fora de trabalho. Este
o caso de Shoko Suzuki e Isabel Mendes da Cunha, mestras ceramistas octogenrias, cujos
universos poticos, a despeito das grandes diferenas e dos muitos quilmetros que as separam
geograficamente, se aproximam em vrios aspectos. Suas produes artsticas vinculam-se s
suas histrias de vida e tanto trazem referncias da tradio e da cultura ancestrais das quais
so depositrias como esto relacionadas s experincias que vivenciam em face das condies
concretas dos contextos scio-culturais nos quais esto inseridas. Fortes propsitos ticos e huma-
CI ANTEC
// 255 //
nsticos fundamentam a produo de suas obras e a forma como conduzem o processo formativo
de aprendizes, aos quais oferecem seus saberes ancestrais. Em tais processos formativos, entre
outros elementos, esto presentes o fazer conjunto, a prtica artstica, a pesquisa, a experimentao
e o dilogo, elementos que, de modo geral, esto ausentes das aulas de arte no espao escolar.
Por esta razo, as obras, os percursos e os modos de ensinar e de trabalhar das duas ceramistas
contribuem para a reflexo sobre a formao de professores de arte e a natureza do processo de
ensino-aprendizagem da arte no espao escolar e a abordagem de muitos conceitos fundamentais
relacionados a estes dois campos, entre os quais: apreciao esttica, produo artstica, experi-
ncia esttica, prxis criadora, multiculturalidade e conquista de cidadania.
33
Shoko Suzuki nasceu em Tquio em 1926. Como muitos japoneses, sofreu as trgicas conseq-
ncias da segunda guerra. Dessa experincia, extraiu a deciso de se tornar ceramista, debru-
ando-se sobre uma atividade criadora que, tendo o auxlio do fogo para o endurecimento da
matria, repudia a fragilidade da vida humana. Aportou em terras brasileiras no incio da dcada
de sessenta, atrada pela beleza das curvas da arquitetura de Niemeyer, fortemente presentes na
ento recm-construda Braslia. A partir da, instalada em seu stio no municpio de Cotia, em So
Paulo, onde construiu com as prprias mos o primeiro forno noborigama
34
do Brasil, passou a
trabalhar incansavelmente no desenvolvimento de uma sntese potica entre os fundamentos de
sua cultura de origem e a cultura do pas que escolheu para viver. A peculiar forma como prepara
e trabalha o barro, o torneamento manual e a queima no noborigama so fundamentos do seu
processo criador e formador, no somente meios; com eles, gravou em sua obra uma vontade
prpria, remetendo cermica uma dimenso profunda, razo pela qual considerada pela
crtica uma das mais importantes ceramistas do pas. Ao sentir-se preparada, Shoko lanou-se
tarefa de compartilhar com os mais jovens seus conhecimentos, fundamentando sua proposta
pedaggica nos princpios que embasam sua prtica artstica, de tal modo que a aprendizagem
da cermica se desse no pela assimilao, memorizao e reproduo de tcnicas e procedi-
mentos, mas pela compreenso e vivncia da verdadeira experincia criadora propiciada pela
terra como matria.
35
SHOKO SUZUKI EM SEU STIO, EM MEIO S SUAS PEAS. - FOTO:
RMULO FIALDINI
Isabel Mendes da Cunha vive em Santana do Araua,
vilarejo localizado no Vale do Jequitinhonha, Minas Ge-
rais, regio marcada pela ausncia de condies mni-
mas de sobrevivncia. Descendente de negros e ndios,
aprendeu ainda pequena a fazer panelas de barro com
a me. Os utenslios que sua me fazia ajudavam no or-
33 As i di as aqui desenvol vi das basei am-se na pesqui sa etnogrfi ca real i zada pel a autora, que resul tou na tese i nti tul ada
Descobri r as texturas da essnci a da terra: formao i ni ci al e prxi s cri adora do professor de arte, apresentada Facul -
dade de Educao da Uni versi dade de So Paul o, no ano de 2007.
34 O nobori gama um forno cuj o model o remonta ao per odo medi eval . Quando al i mentado por cerca de tri nta e quatro
horas, i ni nterruptamente, pode ati ngi r uma temperatura aci ma de 1.300C. As obras, col ocadas nas cmaras i nterl i gadas
em desn vel para mel hor aprovei tamento do cal or, fi cam em contato di reto com o fogo e a fumaa. O processo resul ta peas
de el evada bel eza, resi stnci a e ori gi nal i dade.
35 Para o desenvol vi mento da pesqui sa, a autora vi aj ou al gumas vezes a Santana do Araua , ocasi es em que pde en-
trevi star Isabel Mendes da Cunha e al guns de seus aprendi zes e observ-l a trabal har e ensi nar. Tambm entrevi stou Shoko
Suzuki e tornou-se sua al una, experi nci a que se estendeu por um per odo de doi s anos, de 2004 a 2006.
CI ANTEC
// 256 //
amento familiar, mas o sonho da menina era fazer bonequinhas para brincar. Viva, com seis filhos
para criar, Isabel s pde se lanar produo de suas famosas bonecas quando j estava com
mais de quarenta anos de idade, poca em que os utenslios de barro, dada a perfeio, eram
destaque nas feiras da regio, garantindo-lhe a sobrevivncia. Desde ento, a artes transforma
sofrimento, misria e fome, comuns na regio, em profunda beleza, retratando os moradores do
lugar invariavelmente em posio hiertica, em situaes de festa. Do cho em que pisa, advm
a matria (barro e tintas) e o motivo de suas criaes. Com seu gesto potico, Isabel devolve aos
moradores da regio, de forma simblica, a dignidade que lhes foi roubada, ao mesmo tempo em
que lhes ensina que a imaginao criadora contribui para a superao das adversidades. Tambm
oferece a quem se interessar os segredos do seu ofcio, criando me torno de si uma verdadeira
escola de ceramistas. Deste modo, exerce um alto poder de transformao nas condies de
vida dos moradores de Santana do Araua, j que a renda obtida com a venda das produes
contribui para tornar mais digna e menos rdua a sobrevivncia de todos.
ISABEL MENDES DA CUNHA EM SUA OFICINA COM SUAS BONECAS.
FOTO: MILTON DINES
Imaginao criadora, sensibilidade, sentimento de
pertencimento e compromisso com os outros seres
humanos, alm de outros importantes elementos,
como o dilogo, o fazer conjunto, a pesquisa e a ex-
perimentao, esto presentes na prtica artstica
e pedaggica de mestres artesos. Deste forma, o
universo artesanal oferece elementos importantes para
a reflexo sobre a natureza do trabalho artstico e os objetivos do processo de ensino-aprendiza-
gem da arte no espao escolar. Considerando a aula de arte um privilegiado lcus de encontro
e construo humana, o professor de arte, a exemplo dos mestres artesos, pode voltar-se para
a razo de ser da arte no currculo escolar, qual seja, a insero criadora e produtiva dos mais
jovens no mundo cultural, compartilhando com eles seus saberes, princpios, viso de mundo,
sonhos e projetos, em uma perspectiva transformadora, no reduzindo, pois, a aula da arte
aprendizagem mecnica de procedimentos tcnicos, assimilao de conceitos esvaziados de
significado ou mera reproduo de prticas e metodologias prescritas por outrem. Alm de
propiciar aos seus alunos a vivncia da gratificante experincia criadora, ele prprio poder viv-
la em sua prxis educativa.
Você também pode gostar
- Marcas Design EstratégicoDocumento45 páginasMarcas Design EstratégicoLeonardo GuelberAinda não há avaliações
- LIVRO 01 - Arte, Memória e EspaçosDocumento810 páginasLIVRO 01 - Arte, Memória e EspaçosAndreia Pereira100% (1)
- jspuibitstream12345678997591EB7010 37520Treinamento20FC3ADsico20Militar PDFDocumento293 páginasjspuibitstream12345678997591EB7010 37520Treinamento20FC3ADsico20Militar PDFNatã RodriguesAinda não há avaliações
- Estudando 101 Forma Inteligente e Não Mais DifícilDocumento7 páginasEstudando 101 Forma Inteligente e Não Mais DifícilRonaldAinda não há avaliações
- Tecnologias Digitais e EscolaDocumento119 páginasTecnologias Digitais e EscolaHandherson Damasceno100% (1)
- Propostas e Desafios na Educação ContemporâneaNo EverandPropostas e Desafios na Educação ContemporâneaAinda não há avaliações
- Luna Hunyer - Warriors of Kaizon 1 - Beast (Rev) R&ADocumento118 páginasLuna Hunyer - Warriors of Kaizon 1 - Beast (Rev) R&AGabriela RodriguesAinda não há avaliações
- E-Book 5 - Práticas Docentes No Cotidiano EscolarDocumento893 páginasE-Book 5 - Práticas Docentes No Cotidiano EscolarFabiola Chaves100% (3)
- Educação Física e Tecnologia : O Processo de "Tecnização" EducacionalNo EverandEducação Física e Tecnologia : O Processo de "Tecnização" EducacionalAinda não há avaliações
- Arte e Desenvolvimento Humano Arte e TecnologiaDocumento494 páginasArte e Desenvolvimento Humano Arte e TecnologiaThatiane MendesAinda não há avaliações
- Bianchessi - Educação, Currículo, Cultura DigitalDocumento174 páginasBianchessi - Educação, Currículo, Cultura DigitalFelipe0% (1)
- Guia para Vestibulares Militares - Um Minimanual de Dicas para PassarDocumento40 páginasGuia para Vestibulares Militares - Um Minimanual de Dicas para PassarSamuel GomesAinda não há avaliações
- Teatro o Banco Das DecisõesDocumento2 páginasTeatro o Banco Das DecisõesSaulo Leite100% (2)
- ArTecnologia: Arte, Tecnologia e Linguagens MidiáticasNo EverandArTecnologia: Arte, Tecnologia e Linguagens MidiáticasAinda não há avaliações
- Educacao e TransdisciplinariedadeDocumento211 páginasEducacao e TransdisciplinariedadeWETH1100% (1)
- Tecnologias educacionais e inovação: diálogos e experiências - volume IINo EverandTecnologias educacionais e inovação: diálogos e experiências - volume IIAinda não há avaliações
- Tecnologias educacionais e inovação: diálogos e experiências - volume INo EverandTecnologias educacionais e inovação: diálogos e experiências - volume IAinda não há avaliações
- Anexo VIII - Plano Básico Ambiental - PBADocumento6 páginasAnexo VIII - Plano Básico Ambiental - PBAMarvacos SeinaosinhoAinda não há avaliações
- Editora BAGAI - Educação e Tecnologias PDFDocumento280 páginasEditora BAGAI - Educação e Tecnologias PDFEderson VasconcelosAinda não há avaliações
- Ensino das Artes na Universidade: Textos FundantesNo EverandEnsino das Artes na Universidade: Textos FundantesAinda não há avaliações
- ANAMORFOSE UMA PERSPECTIVA DIVERTIDA Capitulo Do Livro ARTE CONHECIMENTO E PRODUCAO As Oficinas Do Programa INTERARCDocumento81 páginasANAMORFOSE UMA PERSPECTIVA DIVERTIDA Capitulo Do Livro ARTE CONHECIMENTO E PRODUCAO As Oficinas Do Programa INTERARCCarlos TerraAinda não há avaliações
- DIstribuição de Weibull Leonardo PDFDocumento16 páginasDIstribuição de Weibull Leonardo PDFLeonardo OliveiraAinda não há avaliações
- Tecnologias educacionais: aplicações e possibilidades - volume 2No EverandTecnologias educacionais: aplicações e possibilidades - volume 2Ainda não há avaliações
- Difusão científica: Da universidade à escolaNo EverandDifusão científica: Da universidade à escolaAinda não há avaliações
- Ciencias Sociais Campo Migratório PDFDocumento267 páginasCiencias Sociais Campo Migratório PDFPós Direito PúblicoAinda não há avaliações
- Resumo Pgcult 2019Documento573 páginasResumo Pgcult 2019Andrés PalenciaAinda não há avaliações
- Mutações, Confluências e Experimentações Na Arte e TecnologiaDocumento277 páginasMutações, Confluências e Experimentações Na Arte e TecnologiaIgor100% (2)
- PDF of Biotecnologia Direito Fundamental A Vida 1St Edition Luciana Reusing Full Chapter EbookDocumento69 páginasPDF of Biotecnologia Direito Fundamental A Vida 1St Edition Luciana Reusing Full Chapter Ebookviolantemarwaric15100% (5)
- Caderno FinalDocumento116 páginasCaderno FinalThaís RodriguesAinda não há avaliações
- Anais Do IV Simposio Nacional de Arte e PDFDocumento332 páginasAnais Do IV Simposio Nacional de Arte e PDFAndré MalinskiAinda não há avaliações
- VÍDEOPERFORMANCE Experimentações em Sala de AulaDocumento15 páginasVÍDEOPERFORMANCE Experimentações em Sala de AulaMeiriluceAinda não há avaliações
- Imagens Da Cultura Vi Icci 2010 BDocumento415 páginasImagens Da Cultura Vi Icci 2010 Bcarlosh06Ainda não há avaliações
- Caderno de Resumo Evento - Diálogos Sobre HistóriaDocumento165 páginasCaderno de Resumo Evento - Diálogos Sobre HistóriaNathy BelmaiaAinda não há avaliações
- Livro de Metodologiada Pesquisa 2010Documento89 páginasLivro de Metodologiada Pesquisa 2010Hermenegildo VieiraAinda não há avaliações
- Anais Edicic 2016Documento2.217 páginasAnais Edicic 2016Fernando de Assis Rodrigues100% (1)
- XXXVII Jornada de Iniciação Científica, Tecnológica, Artística e Cultural UFRJDocumento1.427 páginasXXXVII Jornada de Iniciação Científica, Tecnológica, Artística e Cultural UFRJStéfany SilvaAinda não há avaliações
- E-Book JuventudesDocumento154 páginasE-Book JuventudesMonica VillaçaAinda não há avaliações
- E-Book I ConProEdu II IncluiEdu 04abr PDFDocumento1.104 páginasE-Book I ConProEdu II IncluiEdu 04abr PDFWanderson Teixeira GomesAinda não há avaliações
- ANAIS II Enicecult 2019Documento639 páginasANAIS II Enicecult 2019Lauro José CardosoAinda não há avaliações
- III Mostra PET 2023 - DIVULGAÇÃODocumento3 páginasIII Mostra PET 2023 - DIVULGAÇÃOLucas FeitosaAinda não há avaliações
- Sebramus Volume 5Documento754 páginasSebramus Volume 5Juliana Siqueira0% (1)
- Ebook Conexoes Modernas No Brasil-2022Documento402 páginasEbook Conexoes Modernas No Brasil-2022Sergio FariasAinda não há avaliações
- As Jornadas Internacionais de Educação Física (Belo Horizonte, 1957-1962)No EverandAs Jornadas Internacionais de Educação Física (Belo Horizonte, 1957-1962)Ainda não há avaliações
- Universidade de Brasília Instituto de Artes Programa de Pós-Graduação em ArteDocumento240 páginasUniversidade de Brasília Instituto de Artes Programa de Pós-Graduação em ArteMarco Antônio Mendes RabelloAinda não há avaliações
- Livro-Texto - Unidade I METODOLOGIA DE ARTE E MOVIMENTO CORPOREIDADEDocumento50 páginasLivro-Texto - Unidade I METODOLOGIA DE ARTE E MOVIMENTO CORPOREIDADEJacqueline Tavares100% (2)
- Livro #16.ART v. EletDocumento1.118 páginasLivro #16.ART v. EletBia SimonAinda não há avaliações
- EBOOK EntrelacosDocumento208 páginasEBOOK EntrelacosEl Ultimo Cartucho CortometrajeAinda não há avaliações
- Anais 2019 Final-1 Simpósio Pàgina 153 Resumo Loucura e Completude Considerações Introd em PsicanáliseDocumento171 páginasAnais 2019 Final-1 Simpósio Pàgina 153 Resumo Loucura e Completude Considerações Introd em PsicanáliseLuciano Carlos UtteichAinda não há avaliações
- Kimono - Exposições Museológicas PDFDocumento445 páginasKimono - Exposições Museológicas PDFPriscilaAinda não há avaliações
- Livro-Texto - Unidade IDocumento39 páginasLivro-Texto - Unidade ILamyla LorenaAinda não há avaliações
- Apostila de ArteDocumento47 páginasApostila de ArteFranciele MoraesAinda não há avaliações
- Educação Científica e Popularização Das Ciências Práticas Multirreferenciais (Marcelo Souza Oliveira Etc.)Documento327 páginasEducação Científica e Popularização Das Ciências Práticas Multirreferenciais (Marcelo Souza Oliveira Etc.)JrabeloAinda não há avaliações
- Imagens Da Cultura - 2010 - Jose RibeiroDocumento519 páginasImagens Da Cultura - 2010 - Jose RibeirojsribeiroAinda não há avaliações
- Como Fazer Junto - TEIXEIRA - DR - IADocumento194 páginasComo Fazer Junto - TEIXEIRA - DR - IALucs AmrnAinda não há avaliações
- Formação de Professores e o Método Ontopsicológico – Uma Abordagem IntegradaNo EverandFormação de Professores e o Método Ontopsicológico – Uma Abordagem IntegradaAinda não há avaliações
- Novos Olhares: Leitura, Ensino e Mundo DigitalDocumento237 páginasNovos Olhares: Leitura, Ensino e Mundo DigitalAline JobAinda não há avaliações
- Anais Congresso Bras de Enferm Pedia SOBEPDocumento18 páginasAnais Congresso Bras de Enferm Pedia SOBEPBianca Contreira de JungAinda não há avaliações
- Conscientização da Reposição Florestal e Necessidades da Preservação do Meio AmbienteNo EverandConscientização da Reposição Florestal e Necessidades da Preservação do Meio AmbienteAinda não há avaliações
- Sousa 2013Documento403 páginasSousa 2013david.moreira.silva6187Ainda não há avaliações
- Efendy Maldonado, Alberto - Teorias Da Comunicaçao Na América LatinaDocumento330 páginasEfendy Maldonado, Alberto - Teorias Da Comunicaçao Na América LatinajulhermepiresAinda não há avaliações
- A Face Oculta Do DocumentoDocumento334 páginasA Face Oculta Do DocumentoMarta PedagogaAinda não há avaliações
- Ebook Cadernos de Docencia XDocumento219 páginasEbook Cadernos de Docencia XBarry KadeAinda não há avaliações
- Alves Al Me Bauru Par SubDocumento50 páginasAlves Al Me Bauru Par SubManoela ZabottiAinda não há avaliações
- Currículo e Sociedade da Informação no Discurso dos Pesquisadores da Área de EducaçãoNo EverandCurrículo e Sociedade da Informação no Discurso dos Pesquisadores da Área de EducaçãoAinda não há avaliações
- Caderno de Programaç Ã oDocumento88 páginasCaderno de Programaç Ã oClaudio BritoAinda não há avaliações
- Arte e Estética Unid IDocumento40 páginasArte e Estética Unid Idaiane tais100% (2)
- Anais - XXXIV Semana Da Matemática UELDocumento278 páginasAnais - XXXIV Semana Da Matemática UELJoao Paulo de Melo GoncalvesAinda não há avaliações
- Ferramentas Digitais e Ensino PDFDocumento351 páginasFerramentas Digitais e Ensino PDFLeonardo Lopes100% (1)
- Congresso de Historia Da MídiaDocumento981 páginasCongresso de Historia Da MídiaRodrigoAinda não há avaliações
- FILE Hypermedia 2005Documento266 páginasFILE Hypermedia 2005onlinetextsAinda não há avaliações
- Mobile 2.0Documento125 páginasMobile 2.0onlinetextsAinda não há avaliações
- FILE 2011 CatalogDocumento288 páginasFILE 2011 Catalogonlinetexts100% (1)
- Arte e Tecnologia Digital BrasileiraDocumento125 páginasArte e Tecnologia Digital BrasileiraonlinetextsAinda não há avaliações
- Pinto A Avaliação em Educação - Pp. 3-40Documento38 páginasPinto A Avaliação em Educação - Pp. 3-40alexandranatrioAinda não há avaliações
- Alinhamento e AcoplamentosDocumento98 páginasAlinhamento e AcoplamentosMARCOSAinda não há avaliações
- Livro Ebook Fe Crista e Cultura ContemporaneaDocumento28 páginasLivro Ebook Fe Crista e Cultura ContemporaneaPriscila EmanuelaAinda não há avaliações
- Relatorio Precipitacao Aluminio ACABADODocumento8 páginasRelatorio Precipitacao Aluminio ACABADOThalis OtávioAinda não há avaliações
- Allan Kaprow Como Fazer Um HappeningDocumento8 páginasAllan Kaprow Como Fazer Um HappeningMonica Lopes GalvãoAinda não há avaliações
- Abandono AfetivoDocumento11 páginasAbandono AfetivoannakareninagomespAinda não há avaliações
- ATIVIDADE 2 - Tópicos em Sistemas de InformaçãoDocumento2 páginasATIVIDADE 2 - Tópicos em Sistemas de InformaçãoRaimundo VieiraAinda não há avaliações
- Questões Discursivas de Língua Portuguesa Pism 2Documento2 páginasQuestões Discursivas de Língua Portuguesa Pism 2Ester SouzaAinda não há avaliações
- Ester KollingDocumento24 páginasEster Kollingjoaofreitas10Ainda não há avaliações
- Livro Go Pro - 7 Habilidades para Se Tornar Um Profissional Do MMNDocumento24 páginasLivro Go Pro - 7 Habilidades para Se Tornar Um Profissional Do MMNSms Consultores AssociadosAinda não há avaliações
- GASPARIN - O Método Gaspariano Como Perspectiva Crítica de Qualificação Didática No Ensino Superior Pesquisa-AçãoDocumento17 páginasGASPARIN - O Método Gaspariano Como Perspectiva Crítica de Qualificação Didática No Ensino Superior Pesquisa-AçãoCaio RizzoAinda não há avaliações
- R2-2023-Boletim Eventos 1º SemestreDocumento26 páginasR2-2023-Boletim Eventos 1º SemestreItalo SantosAinda não há avaliações
- A ARTE DE VIVER EM RELAÇÃO (Edição 2015)Documento72 páginasA ARTE DE VIVER EM RELAÇÃO (Edição 2015)História de todas as mulheresAinda não há avaliações
- Que Efeitos (Ou Afecções) o Curta Piirongin PiiloissaDocumento1 páginaQue Efeitos (Ou Afecções) o Curta Piirongin PiiloissaEmilia Coelho Coutinho da RochaAinda não há avaliações
- Regis Debray 12 TesesDocumento16 páginasRegis Debray 12 TesesBela LachterAinda não há avaliações
- Ricardo BellinoDocumento21 páginasRicardo BellinoMatheus H. B. RodegheriAinda não há avaliações
- Lendo A Sociedade Brasileira Atraves Do Carnaval CariocaDocumento11 páginasLendo A Sociedade Brasileira Atraves Do Carnaval CariocaHellige Rodrigues Nobrega SantanaAinda não há avaliações
- Artigo - MEIOS DE VIGILÂNCIA A DISTÂNCIA FACE A PROTECÇÃO DA DIGNIDADE DO TRABALHADORDocumento9 páginasArtigo - MEIOS DE VIGILÂNCIA A DISTÂNCIA FACE A PROTECÇÃO DA DIGNIDADE DO TRABALHADORLezzio ElidioAinda não há avaliações
- Michelet - A Mulher e A OperáriaDocumento8 páginasMichelet - A Mulher e A OperáriaRafael D. OliveiraAinda não há avaliações
- Fichamento Livro A Ilusão Vital - Jean BaudrillardDocumento10 páginasFichamento Livro A Ilusão Vital - Jean BaudrillardMaik JamesAinda não há avaliações
- The Magician Who Rose From Failure Volume 4 PTBTDocumento299 páginasThe Magician Who Rose From Failure Volume 4 PTBTbinsfeldbruno98Ainda não há avaliações