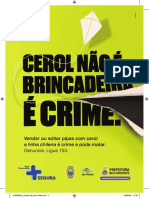Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Cascais Antonio Fernando. Divulgação Científica A Mitologia Dos Resultados
Cascais Antonio Fernando. Divulgação Científica A Mitologia Dos Resultados
Enviado por
Kássio José0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
7 visualizações13 páginasTítulo original
Cascais Antonio Fernando. Divulgação Científica a Mitologia Dos Resultados
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
7 visualizações13 páginasCascais Antonio Fernando. Divulgação Científica A Mitologia Dos Resultados
Cascais Antonio Fernando. Divulgação Científica A Mitologia Dos Resultados
Enviado por
Kássio JoséDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 13
Divulgao cientca: A Mitologia dos Resultados
Antnio Fernando Cascais
A evoluo tecnocientca encontra-se en-
tre os mais privilegiados temas da divulgao
meditica. A sua presena diria nos meios
de comunicao, desde os que privilegiam
pblicos restritos e de elevados nveis de
aquisio cultural, at aos pblicos mais in-
diferenciados e com um espectro menos se-
lectivo de escolha informativa.
Seria, porm, uma abusiva simplicao
reduzir a uma questo de acessibilidade de
linguagem a diferena entre um artigo publi-
cado numa revista cientca especializada e
o texto que se prope divulgar idntico con-
tedo numa publicao de grande circulao
para um pblico leigo. Divulgar cincia s
relativa e parcialmente passa por um trocar
em midos o hermetismo com que a comu-
nidade de iniciados ao mesmo tempo se vela
e se ostenta ao olhar que sobre si convoca.
E mesmo o facto de os artigos cientcos se
encontrarem sujeitos a protocolos de publi-
cao, de que a reviso pelos pares ep-
tome, no esgota a diversidade de natureza
que separa o saber formal expresso na liter-
atura cientca e o saber informal que a ve-
icula para o exterior das comunidades cient-
cas.
Inicialmente publicado em: Cidoval M. Sousa,
Nuno P. Marques e Tatiana S. Silveira, orgs. et al.,
2003: A comunicao pblica da cincia. So Paulo:
Cabral Editora e Livraria Universitria, pp. 65-77
Por outro lado, se toda a traduo com-
porta um maior ou menor grau de traio,
o problema que pretendemos aqui expr de
maneira nenhuma deve ser abordado nos ter-
mos de uma traio ao rigor cientco, que
seriam pobres e enganosos para dar conta
dele. O exemplo de alguns grandes divul-
gadores que esto permanentemente na im-
inncia de serem tomados como modelos de
referncia, como Carl Sagan, David Atten-
borough ou David Suzuki, sobressaem do
mundo multiforme do documentarismo cien-
tco annimo, o que no implica que neste
impere a concesso facilidade. Censurvel
concesso facilidade seria precisamente
tomar como uma mera questo de traio ao
rigor cientco o problema que entendemos
ser o de mais vastas implicaes no domnio
da divulgao cientca. Chamemos-lhe o
problema da mitologia dos resultados.
Porventura compreensvel entre os pbli-
cos menos familiarizados com o fazer da
cincia, a mitologia dos resultados no deve,
porm, ser entendida primordialmente como
um problema dos pblicos - ainda que
neles se reictam eventualmente as suas
mais dramticas consequncias - mas so-
bremaneira como um problema dos divul-
gadores. Trao distintivo da mitologia dos
resultados justamente o seu carcter ver-
tical: alm de, e muito mais que, decorrer
necessariamente da iliteracia cientca dos
2 Antnio Fernando Cascais
pblicos, que hoje j proverbial pressupr,
ela comum no s aos prossionais da di-
vulgao que no pertencem comunidade
de pares cientcos, mas aos prprios cien-
tistas que fazem da divulgao quer uma car-
reira paralela, quer uma incurso mundana
fora da academia. Surpreendentemente, ou
talvez nem tanto, a mitologia dos resulta-
dos prevalece igualmente, e com espantosa
frequncia, nos certames ociais, organiza-
dos com o concurso dos prprios cientistas
e selados aos mais altos nveis das instn-
cias de deciso poltica, ou seja, onde con-
vergem os vrtices do suposto saber e do su-
posto poder. Amitologia dos resultados um
efeito discursivo. Sem ser inelutvel, ela diz
respeito representao que fazem da activi-
dade cientca tanto o pblico no iniciado
na metodologia cientca como os prprios
cientistas que, sendo-o, passam tambm a
ser o primeiro pblico da cincia que fazem,
a partir do momento em que a divulgam.
Ao abalanarem-se a divulg-la, os cientistas
sobre ela principiam a volver o olhar quo-
tidiano em que se exprimem os valores, os
mbeis e as expectativas (negativas ou pos-
itivas) do mundo social que se encontra a
montante e a jusante do fazer cincia, e no
j a linguagem formal que vigora portas do
laboratrio a dentro. Ao anteciparem, imag-
inariamente, o que pode ser a forma mentis
do pblico ideal, num esforo de assimilao
dela pelo discurso vulgarizador, por mor da
tradutibilidade do hermetismo da linguagem
cientca, os cientistas so facilmente presa
das suas prprias representaes da cincia,
que de seguida transmitem ao pblico como
se se tratasse da cincia tal qual se faz,
quando da cincia tal qual ela represen-
tada pelos cientistas que se trata. O cientista
no ganha em objectividade, pelo facto de o
ser, ao falar da cincia que ele prprio faz;
ao falar dela, fala no do ponto de vista de
quem est no seu interior - no laboratrio -
mas do ponto de vista de uma comunidade
maior que ela - o mais elevado interesse da
sociedade, ou da humanidade - to exterior
ao laboratrio como o pblico no iniciado.
Isto no signica, porm, que o laboratrio
seja assptico aos interesses prevalecentes no
mundo extra-cientco (Latour, 1995, 1996;
Latour e Woolgar, 1995); muito pelo con-
trrio, a comunidade cientca que para
si prpria representa, e ao olhar alheio ap-
resenta, como neutrais e apolticos os seus
prprios interesses cognitivos no momento
de fazer cincia, to-s se limitando ela a
servir o bem comum. O olhar dos cientis-
tas sobre a cincia que fazem torna-se as-
sim congenial ao olhar do pblico receptor
que a consome, ambas convergindo numhor-
izonte de expectativas comum e votado a
um mesmo uso social da cincia. No se
trata de uma debilidade corrigvel do cien-
tista, aquilo que o transforma imediatamente
em pblico de si mesmo mal pretende meta-
morfosear a sua cincia-cincia em cincia-
cultura. Na verdade, o cientista no pode
escapar ao modo narrativo originrio da lin-
guagem humana, que a tradio hermenu-
tica, e particularmente as anlises de Paul
Ricoeur (Ricoeur, 1985), mostram ser co-
mum tanto efabulao quotidiana como
explicao cientca, ambas enformadas,
que so, pelo esquema nalista de todo o
agir. Mas, sem perder de vista esta condio
epistmica, h que volver um olhar mais
prescrutador a quanto pode condicionar e
quanto pode ser condicionado por uma mi-
tologia dos resultados.
Em essncia, a mitologia dos resultados
consiste em:
www.bocc.ubi.pt
Divulgao cientca: A Mitologia dos Resultados 3
representar a actividade cientca pelos
seus produtos;
subsumir os processos cientcos con-
secuo nalista e cumulativa de resul-
tados;
e isolar exclusivamente como resulta-
dos aqueles que so avaliados a poste-
riori como xitos de aplicao.
O que passa implicitamente por:
ignorar a actividade cientca enquanto
processo, que, ao mesmo que pro-
cede pelo cumprimento protocolar de
critrios a priori de rigor metodolgico
da investigao, progride de modo no
linear, errtico e tenteante - que o
mesmo dizer, branquear a revisi-
bilidade intrnseca a todo o conheci-
mento cientco e a historicidade iner-
ente ao perseguir de interesses cog-
nitivos, variveis temporal e espacial-
mente, a ponto de se tornarem incom-
patveis ou mutuamente exclusivos;
anular o papel do erro produtivo na
tomada de deciso e nas escolhas cien-
tcas, de tal modo que o sucesso da
obteno de resultados atribuvel ao
rigor da concepo metodolgica - o
que implica a necessria eliminao do
resto (o racionalmente inexplicvel, o
estatisticamente excepcional) que ex-
cede o domnio de rigor delimitado pelo
mtodo, tido por subproduto esprio
dele, em vez de marca dos seus limites
de validade;
assimilar ns a resultados, assim
denidos aqueles - em funo da
eccia a posteriori da empresa cient-
ca, com a excluso dos resultados for-
tuitos, inesperados ou adversos.
E ao dizermos que consiste nisto, pre-
tendemos dizer que a mitologia dos resulta-
dos no se refere apenas a cada um destes
aspectos tomado por si s, mas smula de-
les; com efeito, e por um lado, nenhum bas-
taria para a denir em toda a sua extenso,
e por outro lado, cada um deles correlato
dos outros, pelo que nunca aparece szinho,
ainda que por vezes algum deles, em casos
concretos, possa surgir somente de maneira
informulada.
Imprescindvel aqui notar, porm, que
no se trata de fazer uma denncia do que
seria uma ocultao premeditada do cien-
tista, um embuste do divulgador, um efeito
perverso da passividade do pblico iliterato.
No se trata de desmascarar uma censura que
agiria negativamente pela ocultao, pela ne-
gao ou pelo disfarce. No mentira que
a cincia produza resultados, nem sequer
mentira que persiga ela legtimos mbeis
cognitivos, independentemente da percepo
que os pblicos possam ter das suas prprias
necessidades e interesses. Como no men-
tira que o rigor protocolar da empresa tecno-
cientca s seria plena, e logo, idealmente,
acessvel a um pblico leigo se este prprio
pudesse tornar-se cientista. Mas precisa-
mente isto que se v a cada passo contrari-
ado pela progresso imparvel e exponen-
cial dos saberes e poderes tecnocientcos,
que impossibilita todo o acompanhamento
humano, e pela hiperespecializao a que
ela d lugar, com a decorrente fragmentao
dos seus pblicos, que leva a que o inici-
ado numa especialidade facilmente seja ilit-
erato noutra. Neste sentido, a produo de
www.bocc.ubi.pt
4 Antnio Fernando Cascais
iliteracia deve antes de mais ser encarada
como efeito global da prpria dinmica da
produo cognitiva. Ora, justamente, aquilo
que entendemos por mitologia dos resultados
deve ser tido como efeito de censura positiva
dessa iliteracia que a dinmica tecnocient-
ca segrega por assimdizer naturalmente: os
no iniciados numa rea especca da espe-
cializao cientca, tal como os no inicia-
dos no processo cientco em geral, propen-
dem a transformar os produtos da tecnocin-
cia no eixo da sua prpria representao do
processo que lhes deu origem. E a conse-
quncia maior deste fenmeno que, tanto
ao publicitar-se como ao ser percebida como
produtora de resultados, que ela indubitavel-
mente acaba por ser, a cincia censura-se
positivamente como detentora e disponibi-
lizadora de meios, que ela no menos indu-
bitavelmente comea por ser, antes de poder
produzir qualquer resultado.
O resultado aparece revestido de um
carcter autoritrio e prescritivo onde a tec-
nocincia vai exaurir boa parte da sua mais
recente legitimidade. O resultado faz autori-
dade ao impr-se com a fora de um facto
que varre o que ento surge como a impon-
derabilidade das opinies e a v discutibili-
dade dos valores. O resultado prescreve na
medida em que a muda porque no sim-
blica eccia do seu fazer eloquentemente
proclama o que se deve fazer, enquanto a
poltica, a tica, a esttica, tudo o que a tec-
nocincia no , aparentemente titubeiam,
alvitram, ponderam e enm se atolam na im-
potente ignorncia e na ignorante impotn-
cia de quem no sabe porque no pode e no
pode porque no sabe. Mas, tal como a mi-
tologia dos resultados no deve ser resumida
a um mecanismo de censura negativa, no se
inra da que aquilo que melhor a expressa
a siderao. Decerto que o efeito de sider-
ao imprescindvel para dar conta da mi-
tologia dos resultados e por intermdio dele
que se constri a imagem do cientista como
providenciador, a dos meios disponveis se
alguma h - como prestidigitao e a dos re-
sultados como prodgio. Mais, por essa
via que o at tecnocientco substitui a div-
ina providncia como fora interventora na
histria humana. Porm, tal acontece to-
s na medida em que a tecnocincia se ap-
resenta dupla e inextricavelmente enquanto
emancipadora e legiferante, o que o efeito de
siderao, tomado por si s, no deixa entr-
ever. O que permite que a tecnocincia mod-
erna se apresente nessa dupla qualidade, s a
sua prpria ndole o permite explicar.
Com efeito, as condies tericas - i.e.,
epistemolgicas - da mitologia dos resulta-
dos, h que as encontrar a um nvel mais
profundo ainda, na prpria ndole da tec-
nocincia, que o precisamente por j no
ser a tekne grega: a nossa reexo inspira-
se, neste ponto, no pensamento de Martin
Heidegger (Heidegger, 1982, 1991, 1995,
1996, 1987), sem todavia o subscrever no
seu todo e sobretudo nalgumas das suas mais
deplorveis leituras polticas, imputveis em
primeiro lugar ao prprio Heidegger, mas
que foi muito criticamente retomada, e ainda
bem, por Hans Jonas (Jonas, 1980, 1984,
1994, 1996, 1996
a
, 1998; Hottois et al.,
1993; Hottois, Pinsart et al., 1993) e por
Gilbert Hottois (Hottois, 1984, 1984
a
, 1986,
1986
a
, 1991, 1992, 1992
a
, 1992b, 1996). A
mitologia dos resultados am da submis-
so do rigor terico da antiga scientia con-
templativa eccia performativa e que si-
calizou na moderna ontotecnologia a ontolo-
gia metafsica do pensamento clssico. Mais
explicitamente: a cincia moderna cincia
www.bocc.ubi.pt
Divulgao cientca: A Mitologia dos Resultados 5
porque faz, ao contrrio de tudo o que ela no
e que no ela; faz com que resulte, faz
ocorrer, faz com que seja, de tal modo que
onde a scientia contemplativa tinha por cor-
relato a estabilidade do real a contemplar, a
tecnocincia tem por correlato a plasticidade
do objecto a manipular. Ora, precisamente,
a estabilidade intersubjectiva do resultado
que devolve segurana a um real denitiva-
mente instabilizado pela explorao cient-
ca da sua doravante indesmentvel plastici-
dade eis a ontotecnologia.
A mitologia dos resultados pratica a fal-
cia naturalista, ainda que de maneira passiva,
ou, talvez melhor dizendo, desavisada: no
se trata j da passagem automtica dos enun-
ciados descritivos a enunciados prescritivos
no discurso cientco sobre um estado de
coisas natural, de que a reexo losca
se ocupa desde David Hume at Karl-Otto
Apel (Apel, 2000, 2000
a
); trata-se, antes, da
identicao do estado de coisas alterado, o
poder-ser o resultado da manipulao tec-
nocientca com o estado de coisas ideal,
o dever-ser de uma natureza mais perfeita
que a prpria natureza da ambio baconi-
ana; e tanto mais no faz do que exprimir,
por outros termos, a frmula do impera-
tivo tecnolgico que impe que tudo o que
possvel seja desejvel. Por a se opera
a passagem do facto ao valor, da cincia
boa cincia, que os cientistas vulgarmente
se comprazem em sustentar que doravante
no errar onde outrora a cincia se equiv-
ocou, no por ter sido m, mas por ainda
ser pouca, sempre em vias de ser mais ela
prpria, isto , de saber melhor e poder mais,
assim positivamente se libertando, e hu-
manidade sofredora, de tudo quanto (ainda)
no ela. No outra a racionalidade tec-
nocrtica, de que a mitologia dos resultados
constitui um dos avatares. Nesta conformi-
dade, o problema dos resultados indesejveis
expresso, na linguagem que, ento, e por
isso mesmo, s pode ser qualicada de cien-
tista, como um problema de insucincia da
prpria cincia que teria cado a meio cam-
inho, ou seja, a ideia de que existe problema
porque a interveno tecnocientca no foi
at ao m e no h seno que a prosseguir
e consumar at ao sucesso, o qual mais no
do que a obteno do resultado pretendido
desde o incio. Apresenta-se o resultado in-
esperado como engano provisrio apenas ex-
plicvel pela momentnea desateno, a es-
cassez de recursos tcnicos ou o descaminho
especulativo, em suma, pela incompetncia
que interrompe a progresso linear e cumu-
lativa da aquisio cognitiva. Da o extremo
embarao dos cientistas quando confronta-
dos com aquilo que aos olhos do pblico
leigo s pode ser o fracasso e que de facto
a prpria imprevisibilidade e incerteza iner-
ente ao prprio processo de criao cien-
tca. Para justicar o fracasso, demon-
strar a razoabilidade dele, e s ento e de-
baixo dessa presso, que os cientistas cos-
tumam improvisar uma explicao tenteante
do modo como realmente funciona a cin-
cia, abalanando-se a mostr-la tal como ela
se faz, que no apenas tal como ela ideal
ou expectantemente resulta. por se apre-
sentar como intrinsecamente emancipadora
e legiferante que a tecnocincia faz poltica,
faz tica, faz tudo o que ela no nem pode
ser. Excedendo-se na prodigalizao de re-
sultados, a tecnocincia exorbita-se nos usos
tico-polticos, e tanto mais quanto precisa-
mente por intermdio dessa exorbitao que
a tecnocincia se oferece como instncia de-
cisria, rbitro dos conitos tico-polticos.
Seria da objectividade e da positividade do
www.bocc.ubi.pt
6 Antnio Fernando Cascais
resultado que a tecnocincia adquiriria a sua
condio de algum modo neutral que lhe
caucionaria a sua legitimidade para dirimir
conitos. Porm, a presuno de neutral-
idade axiolgica posta em causa quando
o pblico no iniciado descobre, para sua
grande perplexidade e escndalo, que os in-
teresses cognitivos que conduzem a cincia
so to permeveis s opes polticas e ti-
cas como as correntes de opinio que se
digladiam nas arenas polticas e econmicas,
a cujo respeito nunca se sups, nem elas al-
guma vez presumiram, a neutralidade recor-
rentemente proclamada pelo mundo cient-
co. Nada patenteia tanto os compromis-
sos tico-polticos que atravessam o fazer
cincia quanto o facto de a cauo do cien-
tco se repartir em igual medida pelas
vrias partes em litgio em momentos de
discusso pblica: quando se vem cien-
tistas aduzirem, uns contra os outros, mas
com igual denodo, argumentos para susten-
tar tanto a inocuidade como a periculosidade
ambiental da incinerao de resduos txi-
cos, ou quer da humanidade do embrio hu-
mano, quer do seu contrrio, nos debates so-
bre a interrupo da gravidez.
Assim se compreende que, na esfera
pblica, o argumento cientco e, no que
aos assuntos humanos sobremaneira diz re-
speito, o argumento biolgico prevalea
como rbitro nal sempre que se trata da
tomada de decises. Vejam-se os exemp-
los das discusses sobre a humanidade dos
embries e dos fetos, ou do estatuto dos co-
matosos ultrapassados, ou dos clones, ou da
manipulao gentica das clulas germinais
e do genoma humano em geral, enm: toda
a discusso acerca do que uma vida hu-
mana. Vejamos o que nos diz a biologia:
a gurao do humano faz-se cada vez mais
pela aferio biolgica. E, precisamente,
tais discusses tm lugar no j do ponto
de vista daquilo que deve ser a vida boa,
ou decente, como a tradio tico-poltica
clssica tematizava o bios politikos, mas do
ponto de vista da manipulabilidade biotec-
nolgica do indivduo humano enquanto ser
vivo e na medida em que tal manipulabili-
dade empreendida e decidida pela comu-
nidade dos seus (dis?)semelhantes organiza-
dos em polis, tal como recentemente reparou
Giorgio Agamben (Agamben, 1995, 1997,
1999). Ora aquilo que a manipulabilidade
biotecnolgica pe em jogo so resultados,
no ns ou valores.
H aqui que distinguir meio de instru-
mento e de resultado (Nadeau, 1999), tal
como se distingue meio de m e tal como
esta distino permitiu uma das formu-
laes kantianas (Kant, 1988) do impera-
tivo categrico, que obriga a considerar o
nosso semelhante sempre como um m em
si mesmo e nunca como um meio. In-
strumento e resultado reclamam-se mutua-
mente na relao de necessidade e universal-
idade tpica da experimentao tecnocient-
ca, mas, j agora, prpria tambm da re-
gra jurdica: trata-se da reprodutibilidade
de uma ocorrncia, um experimento labo-
ratorial ou uma deciso judiciria, no es-
trito quadro de uma lei vericada. O hori-
zonte em que surgem o instrumento e o re-
sultado o da consumao. Pelo contrrio,
um m sempre denido a priori, antes do
seu cumprimento, na expectativa deste mas
no na sua certeza. da ordem do simblico
e portador da marca de historicidade de todo
aquele que o formula. desejvel, no na
medida da sua previsibilidade, mas da cria-
tividade que, por denio, ele veicula. Por
sua vez, os meios, que tanto podem ser da
www.bocc.ubi.pt
Divulgao cientca: A Mitologia dos Resultados 7
ordem do simblico como no, so a prpria
criatividade num devir sempre aberto porque
independente dos resultados. Enquanto o re-
sultado marca o fechamento de um processo
- e pior ainda quando se transforma o resul-
tado positivo, esperado e necessrio, em eixo
de representao do processo cientco - o
meio dene-lhe a abertura, que o mesmo
dizer, dene-o na sua plenitude, porquanto
permite a incluso, nele, de todos os seus re-
sultados, positivos e negativos, esperados e
fortuitos, desejveis e adversos.
Nesta conformidade, o que se impe
armar que a tecnocincia se encontra em
condies de disponibilizar meios, melhor
do que produzir resultados, contra a mi-
tologia que deixa sem resposta o facto, a
todos os ttulos indesmentvel, dos resulta-
dos inesperados e, no que de pior o ines-
perado tem, indesejveis e incontrolveis; e
contra o admirvel mundo novo de cresci-
mento exponencial da produo cientca
com efeitos linear e cumulativamente eman-
cipatrios na condio humana que ignora
a mudana paradigmtica a que se encon-
tra sujeita a dinmica da criao cientca,
como o demonstrou Thomas Kuhn (Kuhn,
1983, 1989, 1989
a
). A progresso cognitiva
errtica, mas falar de progresso errtica
signica enfatizar, como compete, o carc-
ter mais prprio da racionalidade cientca, a
sua revisibilidade. A cincia progride na me-
dida da sua abertura, no do seu fechamento
em blocos estanques que se acumulariam
uns sobre os outros, e procede por destru-
ies e reconstrues incessantes, nisso con-
sistindo a abertura que garantia da sua pro-
gresso e o carcter mais prprio dessa pro-
gresso a revisibilidade: no outro o
adquirido da epistemologia contempornea
de um Paul Feyerabend (1981, 1982, 1990,
1991, 1999), de um Imre Lakatos (Lakatos,
1982, 1994, 1999) ou de um Karl Popper
(Popper, 1982, 1988, 1991, 1992, 1992
a
,
1993, 1993
a
, 1995, 1997, 1997
a
, 1999; Pop-
per e Eccles, 1977) e to bem descritos entre
ns por Boaventura de Sousa Santos (San-
tos, 1995, 1999, 2000). Os avanos cog-
nitivos apresentam-se sobretudo como mo-
mentos de auto-correco da dinmica tec-
nocientca e inexo da interveno tecno-
cientca em sistema de feed-back com o(s)
estdio(s) anterior(es) da sua evoluo. A re-
viso de um programa tecnocientco no
pois uma simples questo de correco con-
juntural sobre um adquirido que permanece,
porquanto ela implica o pr em causa desse
adquirido e a alterao de rumo no estabelec-
imento de metas da investigao.
A mitologia dos resultados contribui
ainda, embora no baste, para que a racional-
idade cientca possa surgir, tanto ao olhar
leigo como ao dos prprios cientistas, como
algo exterior ao polemos, discutibilidade
e argumentabilidade. A tanto equivale a
presuno da autosucincia cientca, ou
seja, a reivindicada capacidade de a comu-
nidade cientca se auto-regular comsimples
recurso mesma racionalidade que presume
conhecer com rigor e controlar com ec-
cia os fenmenos. Nesta perspectiva, tam-
bm, a cincia s pode ser m cincia se
e na medida em que se deixar instrumen-
talizar, isto , quando se vir subtrada ao con-
trole dos prprios cientistas, cuja racionali-
dade intrnseca constitui garantia suciente
tanto da bondade como do rigor com que a
prosseguem; e a correco passa sempre pelo
retomar do rigor algures perdido num cam-
inho sempre relutante em admitir o sobres-
salto da real controvrsia entre posies in-
compatveis. O que normalmente prevalece
www.bocc.ubi.pt
8 Antnio Fernando Cascais
na divulgao no a incompatibilidade
de teses cientcas entre si, e, portanto, a
controvrsia interna prpria racionalidade
cientca, mas a incompatibilidade - melhor:
a incomensurabilidade - entre a discursivi-
dade delas e outros saberes, o que desloca
a controvrsia para o exterior da cincia; a
cincia s verdadeiramente obrigada a dis-
cutir com o que no ela e o que no ela
tende assim a ser representado como o ponto
de vista da impertinncia que ignora e per-
ante a qual a cincia, se condescende no de-
bate, to-s para melhor assumir o paternal
papel da correco pedaggica.
Aqui reencontramos com incmoda fre-
quncia o deplorvel papel dos cientistas que
se dedicam divulgao e que losofam de
maneira ps-prandial sobre o que supemser
as implicaes extra-cientcas da sua cin-
cia. comum o penoso espectculo de au-
tocomplacente ignorncia e jovial presuno
do cientista lisongeado pelos meios de co-
municao que em puro disfrute diletante
opina sobre poltica, que no s a cientca,
d uma perninha nas humanidades, morde
na tica e belisca o direito, com os quais
se compraz em fazer uma leitura corrobo-
ratria da identicao estratgica dos inter-
esses da cincia - porventura legtimos em
si mesmos e regionalmente, mas no univer-
salmente - com os interesses da sociedade
em geral. E ao mesmo tempo que assim
discorre sobre a sua prpria percepo do
mandato que a sociedade lhe atribui, vai-se
deliciando com uma ou outra intromisso bi-
ogrca do prossional da comunicao que,
ele sim sabiamente, o interroga; isto se no
o prprio cientista a tomar a iniciativa de
o fazer quando lhe concedido tempo de
antena ou coluna regular, ou inclusivamente
quando entende dever mimosear com umas
prolas biogrcas o pblico no entendedor
das revistas das losoas e das humanidades
que - oh, encanto! - o convidaram para
um artigo sobre a sua cincia dura, demasi-
ado dura para to frgil entendimento como
o deles. Em ltima anlise, a mitologia
dos resultados no informa nem forma. Faz
do pblico uma audincia de curiosos: l
onde a curiosidade cientca desdobra o de-
sconhecido na procura innita que mais gen-
uinamente caracteriza a cincia, a mitologia
dos resultados devolve o fechamento de um
produto fungvel que ensimesma o consum-
idor no labirntico horizonte da satisfao
das suas necessidades incessantemente real-
imentadas. Idntica pedagogia do usufruto
no criativo sustenta boa parte dos materiais
educativos dirigidos a pblicos em idade es-
colar, as geraes que se pretende educar
para a cincia - atente-se especialmente em
quanto respeita s novas tecnologias da co-
municao.
A mitologia dos resultados bem pode ser
considerada de modo porventura to in-
quietante quo frutfero e inspirador - como
iluso de controle da dinmica tecnocient-
ca de cuja exterioridade no nos j pos-
svel fazer experincia. E, enquanto mi-
tologia dos resultados, forma mais acessvel
- mas de modo nenhum nica - de elabo-
rao racional de uma dinmica que de outro
modo se agura, a todos os ttulos, irresti-
tuvel ao humano, demasiado humano, das
aies e das graticaes por que se pautam
as vidas dos indivduos, dando por certo que
nunca ningum pode biogracamente ser ci-
entista a tempo inteiro. A apreciao sen-
svel ou esttica - por que disso que se
trata numa mitologia - dos resultados da tec-
nocincia, precisamente a de mais fcil
acesso e a que mais imediatamente recorre
www.bocc.ubi.pt
Divulgao cientca: A Mitologia dos Resultados 9
quem no pode j seno apreciar em termos
de prazer e de dor o que escapa ponder-
ao dialogante, j que no pura e sim-
plesmente possvel dialogar com a hermtica
voz das foras sobre-humanas da tecnocin-
cia. A este propsito, muito nos teria a
dizer a prescincia com que um Michel Fou-
cault (Foucault, 1984, 1994, 1994
a
, 1994
b
,
1994
c
) comeou por teorizar o panoptismo
disciplinar e normalizador moderno e Gilles
Deleuze as mquinas desejantes (Deleuze,
1976), para depois mostrar como o controle
tecnocientco (Deleuze, 1995) de tudo so-
bre todos deixa a perder de vista o sonho
baconiano (Bacon, 1989, 1991, 1992) e Ilu-
minista de humanizao da physis. E a, ci-
entistas e leigos reencontram-se numa co-
mum perplexidade, mas, e por isso mesmo,
numa mesma comunidade de problema, o
que, se bem que possa signicar reconheci-
mento mtuo, de modo nenhum implica nec-
essariamente o automtico desaparecimento
do diferendo que os ope de modo irrecon-
cilivel. Assim, entre a comunidade cient-
ca e o vasto e multiforme mundo fora dela,
trata-se de interpr, de fazer inter-mediar,
a mensurao dos respectivos interesses uns
pelos outros, que no por uma escala ter-
ceira, quer esta seja a dos superiores inter-
esses da sociedade ou do bem comum, quer
a das liberdades, direitos e garantias de um
cidado abstracto alados posio de de-
cisores soberanos, no primeiros, pelas comu-
nidades de pares e, os segundos, pelas con-
stituies do Estado-Nao.
Eis o espao que se abre formao e
investigao de nvel superior e que a Uni-
versidade portuguesa no contempla ainda
com a premncia e a seriedade que ele ex-
ige. Em concluso, dois apontamentos sobre
a formao especializada no mbito do Jor-
nalismo Cientco e da Divulgao, Vulgar-
izao e Compreenso Pblica da Cincia e
da Mediao dos Saberes. A formao es-
pecializada em jornalismo cientco uma
rea pura e simplesmente ausente dos curric-
ula do Ensino Superior portugus. Em regra,
este papel desempenhado por jovens pros-
sionais que acedem carreira j dotados de
formao superior, ao contrrio das geraes
que os precederam. No entanto, e bem ao
contrrio de implicar isto qualquer demrito,
o autodidactismo que prevalece na for-
mao dos prossionais que se dedicam a
questes cientcas. O efeito mais frequente
do autodidactismo consiste na falta de -
vontade no manuseamento da informao
veiculada pelos fazedores da cincia e o
seu risco maior o da vulnerabilidade dos
prossionais da comunicao s represen-
taes que estes tm dos processos de inves-
tigao cientca, que o jornalismo cientco
tem assim tendncia a reproduzir mecanica-
mente como se do prprio state of the art se
tratasse, perante um pblico que ento s in-
justamente pode ser acusado de passividade
porque so os seus prprios informadores a
transmitir-lhe a que a deles mesmos. Igual-
mente ignorado tem sido, at hoje, o campo
fundamental da Mediao dos Saberes. De
modo nenhum se reduz ela mediatizao,
ou publicitao, ou vulgarizao cientca
por obra e graa dos meios de comunicao.
Bem se poderia dizer que o ponto cardeal
da Mediao dos Saberes, h que o denir
pela recepo, no s dos saberes formais
pelos saberes no formais, mas dos prprios
domnios cientcos entre si; pense-se ape-
nas, a este propsito, nos dilemas e perplexi-
dades precipitados pela recepo das actuais
biotecnologias pelos tradicionais saberes hu-
mansticos e que tematizam sobretudo cam-
www.bocc.ubi.pt
10 Antnio Fernando Cascais
pos como os da tica e da Responsabilidade
Cientca, da Biotica, mas um pouco tam-
bm, a Sociologia e a Filosoa ou os Estu-
dos Culturais da Cincia e da Tcnica. A
Mediao dos Saberes diz respeito ao entre-
cruzamento, que tanto inclui pontos de con-
vergncia como de conito, entre os difer-
entes campos do saber as disciplinas
na era da crise da cincia. Crise que a
impossibilidade, no provisria ou conjuntu-
ral, mas permanente e estrutural, de totalizar
o conhecimento humano, de unicar a frag-
mentao dos saberes numa disciplina nica,
quer fundadora, ao contrrio do que reivindi-
cava a metafsica desde a Antiguidade cls-
sica, quer enciclopdica, como pretendia a
Modernidade iluminista.
1 Referncias bibliogrcas
Agamben, Giorgio (1999) - Ce qui reste
dAuschwitz. Paris: ditions Payot et
Rivages
Agamben, Giorgio (1997) - Homo sacer. Le
pouvoir souverain et la vie nue. Paris:
ditions du Seuil
Agamben, Giorgio (1995) - Moyens sans
ns. Notes sur la politique. Paris: di-
tions Payot et Rivages
Apel, Karl-Otto (2000) - Transformao
da losoa, I: Filosoa analtica,
semitica, hermenutica. So Paulo:
Edies Loyola
Apel, Karl-Otto (2000a) - Transformao da
losoa, II: O a priori da comunidade
de comunicao. So Paulo: Edies
Loyola
Bacon, Francisco (1992) - Ensaios. Lisboa:
Guimares Editores
Bacon, Francis (1991) - Novum Organum.
Porto: Rs Editora
Bacon, Francis (1989) - New Atlantis and
The Great Instauration. Wheeling:
Harlan Davidson, Inc.
Deleuze, Gilles (1995) - Pourparleurs. Paris:
Minuit
Deleuze, Gilles (1976) - O anti-dipo. Capi-
talismo e esquizofrenia. Lisboa: Assrio
& Alvim
Feyerabend, Paul (1999) - Ambigedad y ar-
mona. Barcelona: Ediciones Paids
Feyerabend, Paul (1991) - Adeus razo.
Lisboa: Edies 70
Feyerabend, Paul (1990) - Dilogo sobre o
mtodo. Lisboa: Editorial Presena
Feyerabend, Paul (1982) - Come essere un
buon empirista. Roma: Edizioni Borla
Feyerabend, Paul (1981) - Contra el mtodo.
Esquema de una teora anarquista del
conocimiento. Barcelona: Editorial
Ariel
Foucault, Michel (1994) - Dits et crits, I:
1954-1969. Paris: Gallimard
Foucault, Michel (1994a) - Dits et crits, II:
1970-1975. Paris: Gallimard
Foucault, Michel (1994b) - Dits et crits, III:
1976-1979. Paris: Gallimard
Foucault, Michel (1994c) - Dits et crits, IV:
1980-1988. Paris: Gallimard
www.bocc.ubi.pt
Divulgao cientca: A Mitologia dos Resultados 11
Foucault, Michel (1984) - Vigiar e punir.
Petrpolis: Vozes, 3
a
ed.
Heidegger, Martin (1996) - Essais et con-
frences. Paris: Gallimard
Heidegger, Martin (1995) - Lngua de
tradio e lngua tcnica. Lisboa: Vega
Heidegger, Martin (1991) - Questions IV.
Paris: Gallimard
Heidegger, Martin (1987) - Carta sobre o hu-
manismo. Lisboa: Guimares Editores,
4
a
ed.
Heidegger, Martin (1982) - El ser y el
tiempo. Madrid: Fondo de Cultura
Econmica
Hottois, Gilbert (1996) - Entre symboles
et technosciences. Un itinraire
philosophique. Paris: Champ Vallon
Hottois, Gilbert (1992) - O paradigma
biotico. Lisboa: Edies Salamandra
Hottois, Gilbert (1992a), Le rgne de
lopratoire, in Jacques Prades et al.,
La technoscience. Les fractures du dis-
cours. Paris: LHarmattan: 179-196
Hottois, Gilbert (1992b), Introduo s
questes ticas da tecnocincia, Re-
vista de Comunicao e Linguagens, n
o
15/16: 167-177
Hottois, Gilbert (1991), Le systme techni-
cien et la dimension symbolique, in
Frank Tinland et al., Systmes naturels,
systmes articiels. Seyssel: Champ
Vallon: 97-108
Hottois, Gilbert (1986a), Philosophie des
sciences et/ou philosophie de la tech-
nique ?, in Jacques Lemaire et al.,
Philosophie et sciences. Bruxelles:
ditions de lUniversit de Bruxelles:
125-134
Hottois, Gilbert (1984) - Pour une thique
dans un univers technicien. Bruxelles:
ditions de lUniversit de Bruxelles
Hottois, Gilbert (1984a) - Le signe et la tech-
nique. Paris: Aubier-Montaigne
Hottois, Gilbert, ed. et al. (1993) - Aux
fondements dune thique contempo-
raine. Hans Jonas et H. Engelhardt.
Paris: Vrin
Hottois, Gilbert; Pinsart, Marie-Genevive,
eds. et al. (1993) - Hans Jonas. Nature
et responsabilit. Paris: Vrin
Jonas, Hans (1998) - Pensar sobre Dios
y otros ensayos, Barcelona, Editorial
Herder
Jonas, Hans (1996) - Mortality and Morality.
A Search for the Good after Auschwitz,
ed. by Lawrence Vogel. Evanston:
Northwestern University Press
Jonas, Hans (1996a) - Entre le nant et
lternit. Paris: Belin
Jonas, Hans (1994) - tica, medicina e tc-
nica. Lisboa: Vega
Jonas, Hans (1984) - The Imperative of Re-
sponsibility. In Search of an Ethics for
the Technological Age. Chicago: The
University of Chicago Press
www.bocc.ubi.pt
12 Antnio Fernando Cascais
Jonas, Hans (1980) - Philosophical Essays.
From Ancient Creed to Technological
Man. Chicago: The University of
Chicago Press
Kuhn, Thomas (1990) - A revoluo coper-
nicana. Lisboa: Edies 70
Kant, Immanuel (1988) - Fundamentao
da metafsica dos costumes. Lisboa:
Edies 70
Kuhn, Thomas (1989) - Qu son las rev-
oluciones cientcas? Y otros ensayos.
Barcelona: Ediciones Paids
Kuhn, Thomas (1989a) - A tenso essencial.
Lisboa: Edies 70
Kuhn, Thomas (1983) - La structure des
rvolutions scientiques. Paris: Flam-
marion
Lakatos, Imre (1999) - Falsicao e
metodologia dos programas de investi-
gao cientca. Lisboa: Edies 70
Lakatos, Imre (1994) - Pruebas y refuta-
ciones. Madrid: Alianza Editorial
Lakatos, Imre (1982) - Historia de la cien-
cia y sus reconstrucciones racionales.
Madrid: Editorial Tecnos
Latour, Bruno (1996) - Petites leons de soci-
ologie des sciences. Paris: ditions La
Dcouverte
Latour, Bruno (1995) - La science en action.
Paris: Gallimard
Latour, Bruno; Woolgar, Steve (1995) - La
vida en el laboratorio. La construc-
cin de los hechos cientcos. Madrid:
Alianza Editorial
Nadeau, Robert (1999) - Vocabulaire tech-
nique et analytique de lpistmologie.
Paris: Presses Universitaires de France
Popper, Karl (1999) - O mito do contexto.
Em defesa da cincia e da racionali-
dade. Lisboa: Edies 70
Popper, Karl (1997) - O conhecimento
e o problema corpo-mente. Lisboa:
Edies 70
Popper, Karl (1997a) - O realismo e o objec-
tivo da cincia (Ps-escrito Lgica da
descoberta cientca, Vol. 1). Lisboa:
Publicaes Dom Quixote
Popper, Karl (1995) - Sociedade aberta, uni-
verso aberto. Lisboa: Publicaes Dom
Quixote
Popper, Karl (1993) - A sociedade aberta
e os seus inimigos, I: O fascnio de
Plato. Lisboa: Editorial Fragmentos
Popper, Karl (1993a) - A sociedade aberta e
os seus inimigos, II: A mar alta da pro-
fecia: Hegel, Marx e as sequelas. Lis-
boa: Editorial Fragmentos
Popper, Karl (1992) - Em busca de um
mundo melhor. Lisboa: Editorial Frag-
mentos
Popper, Karl (1992a) - A teoria dos quanta e
o cisma da fsica (Ps-escrito Lgica
da descoberta cientca, Vol. 3). Lis-
boa: Publicaes Dom Quixote
Popper, Karl (1991) - Um mundo de propen-
ses. Lisboa: Editorial Fragmentos
Popper, Karl (1988) - O universo aberto
(Ps-escrito Lgica da descoberta
www.bocc.ubi.pt
Divulgao cientca: A Mitologia dos Resultados 13
cientca, Vol. 2). Lisboa: Publicaes
Dom Quixote
Popper, Karl (1982) - Conjecturas e refu-
taes. Braslia: Editora Universidade
de Braslia
Popper, Karl e Eccles, John C. (1977) - The
Self and Its Brain. An Argument for
Interactionism. London: Routledge &
Kegan Paul
Ricoeur, Paul (1985) - Temps et rcit, I, II,
III. Paris: Seuil
Santos, Boaventura de Sousa (2000) - A
crtica da razo indolente. Porto:
Afrontamento
Santos, Boaventura de Sousa (1999) - Um
discurso sobre as cincias. Porto:
Edies Afrontamento
Santos, Boaventura de Sousa (1995) - In-
troduo a uma cincia ps-moderna.
Porto: Edies Afrontamento
www.bocc.ubi.pt
Você também pode gostar
- A Teoria de Piaget - 4 Fases Do Desenvolvimento Infantil - HiperCultura OKDocumento7 páginasA Teoria de Piaget - 4 Fases Do Desenvolvimento Infantil - HiperCultura OKjailma araujo100% (1)
- TCC - Eric Felipe Gomes RezendeDocumento75 páginasTCC - Eric Felipe Gomes RezendeEric Rezende100% (1)
- CançõesDocumento6 páginasCançõesGuilherme Barros0% (1)
- Laia - Geoprojetos - Alumar - Rev 01.Documento16 páginasLaia - Geoprojetos - Alumar - Rev 01.samaraAinda não há avaliações
- Amerriqua 1Documento200 páginasAmerriqua 1O povo do caminhoAinda não há avaliações
- História Da Caricatura No Brasil Raquel de Queiroz PDFDocumento75 páginasHistória Da Caricatura No Brasil Raquel de Queiroz PDFNelson NunesAinda não há avaliações
- Enciclopedia de Comunicação INTERCOMDocumento1.242 páginasEnciclopedia de Comunicação INTERCOMgrazieledesa100% (2)
- Immensae e CaritatisDocumento4 páginasImmensae e CaritatisMessias Francisco ManuelAinda não há avaliações
- Pomian ColecaoDocumento37 páginasPomian ColecaoDaniella Costa100% (1)
- Crescimento e Sistema ReprodutorDocumento4 páginasCrescimento e Sistema ReprodutorAna MatosAinda não há avaliações
- Constantine 024Documento26 páginasConstantine 024Nelson NunesAinda não há avaliações
- Portaria 040 de 2018 Regras para Férias PremioDocumento3 páginasPortaria 040 de 2018 Regras para Férias PremioNelson NunesAinda não há avaliações
- Boletim 04 2022 Agosto e SetembroDocumento32 páginasBoletim 04 2022 Agosto e SetembroNelson NunesAinda não há avaliações
- Boletim 03 2022junho e JulhoDocumento28 páginasBoletim 03 2022junho e JulhoNelson NunesAinda não há avaliações
- Manual de Marca MPMG - Setembro 2021Documento22 páginasManual de Marca MPMG - Setembro 2021Nelson NunesAinda não há avaliações
- Logo GCMBHDocumento13 páginasLogo GCMBHNelson NunesAinda não há avaliações
- BOLETIM 02 2022 Março Abril e MaioDocumento32 páginasBOLETIM 02 2022 Março Abril e MaioNelson NunesAinda não há avaliações
- Apresentação Das Fases Administrativas - CADDocumento12 páginasApresentação Das Fases Administrativas - CADNelson NunesAinda não há avaliações
- SMSP - GCMBH - Folheto - Cerol MataDocumento1 páginaSMSP - GCMBH - Folheto - Cerol MataNelson NunesAinda não há avaliações
- Roteiro para Requerimento de Reopção de CursoDocumento5 páginasRoteiro para Requerimento de Reopção de CursoNelson NunesAinda não há avaliações
- Desafios Da Mulher Na Segurança PúblicaDocumento1 páginaDesafios Da Mulher Na Segurança PúblicaNelson NunesAinda não há avaliações
- Documentos em Pauta - Comissão de Orçamento e Finanças Públicas - 36 Reunião - Ordinária - 20-10-2021Documento8 páginasDocumentos em Pauta - Comissão de Orçamento e Finanças Públicas - 36 Reunião - Ordinária - 20-10-2021Nelson NunesAinda não há avaliações
- Programação - Curso Noções Básicas Sobre Espaços Urbanos SegurosDocumento2 páginasProgramação - Curso Noções Básicas Sobre Espaços Urbanos SegurosNelson NunesAinda não há avaliações
- PaginadorDocumento14 páginasPaginadorNelson NunesAinda não há avaliações
- Retificadores Tri Ponto Medio TiristorDocumento19 páginasRetificadores Tri Ponto Medio TiristorAlexandreAinda não há avaliações
- Politicamonet1958calog PDFDocumento576 páginasPoliticamonet1958calog PDFGabriel CasagrandeAinda não há avaliações
- Estudo Da Celula - 01022015 - A Murmuração Contra As AutoridadesDocumento1 páginaEstudo Da Celula - 01022015 - A Murmuração Contra As AutoridadesAndré MarxAinda não há avaliações
- A Verdadeira História Da CinderelaDocumento7 páginasA Verdadeira História Da CinderelaFabio AlmeidaAinda não há avaliações
- 321ef10 Questoes AtletismoDocumento6 páginas321ef10 Questoes AtletismoPedroSilvaAinda não há avaliações
- Cardápio - Point Prime 23Documento10 páginasCardápio - Point Prime 23Gabriel VianaAinda não há avaliações
- Consulta Rápida (DEMO)Documento17 páginasConsulta Rápida (DEMO)Vit SlowAinda não há avaliações
- Aula 03. Propriedades ColigativasDocumento58 páginasAula 03. Propriedades ColigativasPaulo WagnnerAinda não há avaliações
- Biologia Molecular Do Cancer PDFDocumento32 páginasBiologia Molecular Do Cancer PDFMardonny Chagas100% (1)
- Aula 68 - Raciocinio L - Ógico - Aula 04 - Parte 04Documento68 páginasAula 68 - Raciocinio L - Ógico - Aula 04 - Parte 04marquinhocadAinda não há avaliações
- PNL Lista Completa PDFDocumento596 páginasPNL Lista Completa PDFteresa1974Ainda não há avaliações
- A Questão Social: O Anarquismo em Face Da CiênciaDocumento155 páginasA Questão Social: O Anarquismo em Face Da CiênciaRafael Morato ZanattoAinda não há avaliações
- Apostila Tecnologia Do Álcool - 2014-1Documento124 páginasApostila Tecnologia Do Álcool - 2014-1TaliaAinda não há avaliações
- Spm@Testes: Matriz de Referência 12.º AnoDocumento4 páginasSpm@Testes: Matriz de Referência 12.º AnoNocasAinda não há avaliações
- Centro de Capacitação e Pesquisa Do Meio AmbienteDocumento8 páginasCentro de Capacitação e Pesquisa Do Meio AmbienteJefferson SouzaAinda não há avaliações
- Arisco Significado - Google SearchDocumento1 páginaArisco Significado - Google SearchquelAinda não há avaliações
- Alimentos Livres de GlútenDocumento20 páginasAlimentos Livres de GlútenESTEPHÂNEA SIQUEIRA DA SILVAAinda não há avaliações
- Passo A Passo Massa ChouxDocumento11 páginasPasso A Passo Massa ChouxCaroline MeurerAinda não há avaliações
- Mapa - Ped - Metodologia Da Matemática - 52/2023Documento4 páginasMapa - Ped - Metodologia Da Matemática - 52/2023Azul Assessoria Acadêmica100% (1)
- Modelagem Dos Sistemas EstruturaisDocumento42 páginasModelagem Dos Sistemas EstruturaisAndré Luís100% (1)
- O Teatro Simbolista de MaeterlinckDocumento12 páginasO Teatro Simbolista de MaeterlinckCíntia SayuriAinda não há avaliações
- Classificação de KennedyDocumento4 páginasClassificação de KennedyFernanda FariaAinda não há avaliações