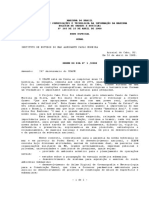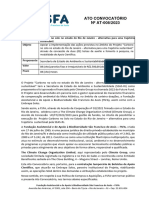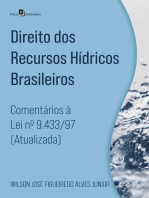Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Boletim Setembro 04
Boletim Setembro 04
Enviado por
Teresa E. CalgamDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Boletim Setembro 04
Boletim Setembro 04
Enviado por
Teresa E. CalgamDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Boletim Informativo da Associao Brasileira de Conservadores - Restauradores de Bens Culturais
2
Boletim ABRACOR
Associao Brasileira de Con-
servadores-Restauradores de
Bens Culturais
Sede
Rua So Jos, n. 50/9 andar
sala n. 5. Centro - Rio de Janeiro/
RJ - CEP.: 20.010-020.
Caixa Postal
6557 CEP.: 20030-970 Rio de
Janeiro RJ Brasil.
Telefax
(21) 2262-2591
E-Mail
abracor@abracor.com.br
Homepage
http://www.abracor.com.br
Informaes Bancrias:
Banco Ita S.A. n 341 - Agn-
cia So Clemente n 0733 C/C n
37602-4 - Rio de Janeiro - RJ.
Edio
Setembro, Outubro e
Novembro de 2004
Tiragem
1.500 Exemplares
Comisso de Publicao
Luiz Ewbank; Cleide Messi;
Jayme Spinelli; Sandra Baruki
Colaboradores Internacionais
Katriina Simila (ICRROM -
Roma - Itlia)
M. Silvio Gorem (Argentina)
Programao Visual, Edi-
torao, Diagramao e
Webdesign
(VXSTUDIO Solues Criativas)
www.vxstudio.com.br
(21) 2608-7227
As matrias assinadas so de
responsabilidade dos autores.
Editorial
Prezados Colegas,
com grande sati sfao que
estamos dando conti nui dade
divulgao de mais um boletim da
ABRACOR apresentado
el etroni camente, com uma nova
diagramao, visto que uma impresso
tipogrfica est por enquanto, alm de
nossas possibilidades.Queremos nos
desculpar com os associados que por
alguma razo tenham dificuldade de
acesso rede, porm, julgamos ser
mel hor o uso de uma m di a
informatizada do que o silncio.
A reabertura do Centro de Fotografia
da FUNARTE nossa matria de capa
com muito orgulho, seguida de dois
artigos tcnicos sobre diferentes reas
de trabalho. Lembramos sempre que a
col aborao dos associ ados
fundamental para a elaborao deste
boletim que nosso, por isso enviem
seus artigos, observaes, comentrios
sobre congressos em que vocs
participaram, dicas de bibliografia ou de
sites, etc...
Aproveitando esta oportunidade de
nos comunicar, pedimos que comecem
a pensar na formao de chapas de
Diretoria para a eleio que se aproxima
com o final deste binio.
Tambm gostaramos de convid-los
para a III Jornada Tcnica de Conservao
do Museu Histrico do Exrcito Forte
de Copacabana, a realizar-se no dia 21/
09/04, cujo tema ser Museografia-
cenrio da histria. Informaes pelo tel.
21/2247.87.25
Por outro lado, informamos que a
ABRACOR esteve presente na recente
apresentao do proj eto Si stema
Nacional de Museus, no Rio de Janeiro,
quando mais uma vez, alertamos os
responsveis, demu@iphan.gov.br para
a necessidade urgente da criao de
cursos de formao e do
reconheci mento da profi sso de
conservadores-restauradores nos nveis
artfice, mdio e graduado, condio
sine qua non para que os acervos
museol gi cos no conti nuem
desprotegidos.
Quanto ao assunto sede prpria,
l amentamos i nformar que aps
tratativas muito bem recebidas junto ao
IPHAN e Prefeitura do Rio de Janeiro
para a cesso de um prdio histrico,
do sc. XVIII, no centro da cidade, voltou-
se estaca zero, quando j estvamos
nos finalmente, por que o Municpio
descobri u que o processo de
transferncia do imvel havia ficado
parado em Bras l i a. Estamos
considerando novas possibilidades caso
esta soluo no se concretize. So 3 as
razes de tal empenho:
1. pesa uma permanente ameaa
de mudana sobre o local que nos est
gentilmente cedido;
2. o domiclio legal da ABRACOR
ainda , por cortesia, o atelier de Marilka
Mendes;
3. a inscrio para pagamentos por
carto de crdito o que facilitaria
enormemente o pagamento das
anuidades, sobretudo para os scios no
exterior exige uma sede prpria.
Quanto ao Congresso, informamos
que no obtivemos mais nenhuma
resposta s correspondncias enviadas,
com aviso de recebimento, a Santa
Catarina.
Desta forma, este evento s poder
ocorrer no prximo ano, cabendo ento,
nova Diretoria, a escolha de outro local.
Gostaramos de registrar que nossa
colega Elisabete Chaves da Silva
ofereceu-se genti l mente para
promover, ai nda este ano, um
congresso em Manaus com o apoio da
Secretaria de Cultura do Estado do
Amazonas. A Diretoria, sensibilizada
com o oferecimento, julgou, no entanto,
que a exi gi dade de tempo no
permitiria nem a organizao do evento
ainda em 2004, nem a possibilidade de
negociao para se obter reduo nas
elevadas tarifas areas, sobretudo para
os associados do sul e sudeste.
Lembramos contudo, que para se
evitar equvocos como os ocorridos
quando da ltima e tumultuada escolha
do local, deve-se de agora em diante
estar atento a que:
1. as propost as para o l ocal do
congresso sejam apresentadas por
escrito por um ou mais scios, aos quais
caber a responsabi l i dade como
proponentes;
2. a comisso organizadora seja
constituda imediatamente aps a
eleio da cidade anfitri;
3. as agncias de turismo participem
somente como parceiras do evento,
jamais como proponentes oficiais, visto
no gozarem de quaisquer vnculos com
a ABRACOR;
4. a votao dever ser feita atravs
de cdulas escritas com os nomes das
cidades candidatas;
5. o resultado dessa seleo conste
em ata, bem como os nomes dos
associados proponentes e a quantidade
de votos apurados para cada local
indicado. Fica a sugesto.
Por hoje s por que o prximo
Boletim j est a caminho.Bom trabalho,
A Diretoria.
Rio de Janeiro, 10/09/04
Expediente
Ano VX n I - Setembro de 2004
3
Do dia 26 a 29 de julho, o Centro de
Conservao e Preservao Fotogrfica
da Funarte - CCPF abriu suas portas para
celebrar com seus parceiros institucio-
nais e o pblico em geral as reformas e
a modernizao da sua casa sede. Os
eventos marcaram a reabertura da casa
do CCPF que esteve fechada por um ano
para obras de restauro que foram
financiadas com recursos do Ministrio
da Cultura.
A programao da I Semana Funarte
de Conservao Fotogrfica, que tem
patrocnio da Nestl, incluiu visitas mon-
itoradas aos atelis e laboratrios; pal-
estras ministradas por especialistas na
rea de conservao que desenvolver-
am projetos em parceria com o CCPF;
FUNARTE REINAUGUROU A SEDE DO CENTRO DE
CONSERVAO E PRESERVAO FOTOGRFICA
COM EVENTOS ABERTOS AO PBLICO
mesa-redonda sobre digitalizao de
imagens com o lanamento do V fas-
cculo dos Cadernos Tcnicos de Con-
servao Fotogrfica que foi elaborado
em parceria com a ABRACOR e a realiza-
o da Oficina Descondicionamento do
Olhar, que aborda diferentes percepes
do universo fotogrfico.
O Centro de Conservao e Preser-
vao Fotogrfica CCPF
O CCPF foi criado pela Funarte, em
1985. o nico centro tcnico da
Amrica Latina com o perfil de atu-
ao institucional nas reas de con-
servao e preservao fotogrfica,
sendo responsvel pela implemen-
tao e i ncenti vo de pol ti cas de
preservao de imagens histricas e
contemporneas dos acervos institu-
cionais e particulares brasileiros.
Atua, por meio de sua assessoria
tcnica, elaborando e executando pro-
jetos de organizao e conservao,
tratamentos de conservao de origi-
nais - fotografias e negativos, realizan-
do programas de capaci tao de
profissionais (cerca de 900 profission-
ais treinados nos seus quase 20 anos
de atuao) e editando manuais e
vdeos especializados.
Dentre as instituies atendidas,
destacam-se: o Projeto de Conser-
vao e Preservao do Acervo Fo-
togrfico da Fundao Biblioteca Na-
cional; o Tratamento Tcnico dos l-
buns da Coleo Augusto Malta, ac-
ervo da Fundao Museu da Imagem
e do Som do Rio de Janeiro; Projeto
de Conservao da Coleo Fotogrfi-
ca da Construtora Norberto Odebrecht;
Tratamento de conservao da coleo
de negativos de vidro do Museu Botni-
co do Jardim Botnico do Rio de Jan-
eiro; mais recentemente, as consulto-
rias em andamento no Projeto de Con-
servao do Acervo Fotogrfico do Mu-
seu da Imagem e do Som de So Pau-
lo e na Conservao e Acondiciona-
mento do Acervo Fotogrfico do Mu-
seu da Repblica, no Rio de Janeiro;
e, ainda, o Tratamento de Conservao
e Reproduo Fotogrfica do Acervo
do Museu Casa de Cora Coralina e do
Centro de Documentao e Infor-
mao CEDOC da Funarte.
Mais informaes:
site - www.funarte.gov.br
CCPF - tel .: (21) 2507-7436 ou
(21)2279-8452 - ccpf@funarte.gov.br
Boletim Informativo da Associao Brasileira de Conservadores - Restauradores de Bens Culturais
4
PRODUTOS QUMICOS PARA CONSERVAO -
SEUS EFEITOS SOBRE ARTE RUPESTRE
UMA REVISO DA LITERATURA
Mais e mais conservadores esto
se direcionando para intervenes dire-
tas com produtos qumicos no esforo
de ajudar a preservar o patrimnio ar-
queolgico da humanidade. A aplicao
de produtos qumicos em stios de arte
rupestre perigosa porque arquelog-
os/conservadores no tm ainda infor-
mao suficiente para avaliar nos s-
tios o desenvolvimento de substncias
especficas ou estratgias. Produtos
qumicos utilizados em outras reas da
cincia da conservao podem reagir
de forma inesperada e causar danos
irreversveis para stios de arte rupes-
tre. Os processos geoqumicos naturais
da deteriorao das rochas, assim
como da mineralogia intrnseca dos
materiais que esto presentes, gover-
nam estas reaes. A reviso de produ-
tos qumicos relevantes e da literatura
arqueolgica apresentada com o ob-
jetivo de demonstrar como alguns
produtos qumicos usados normalmente
por conservadores podem ter compor-
tamentos de maneira a deteriorar o
estudo arqueolgico e a conservao
de stios com arte rupestre.
Esta reviso foi preparada como re-
querimento ao ARPA 480, que constitui
parte do estudo do curso de graduao
de Patrimnio Arqueolgico da Univer-
sidade de New England, Armidale, New
South Wales, Austrlia.
Howard David Smith
Autor
Data: 6 de novembro de 1998
Mrcia Braga
Traduo do ingls
Arquiteta pela Universidade Santa rsula
Mestra em Conservao do Patrimnio Cultur-
al pelo Proarc/UFRJ e especialista em Pintura
Mural e Pedra, pelo ICCROM.
E-mail: marcia@plugue.com.br
Antonio Gonalves da
Silva
Reviso dos termos qumicos
Engenheiro Qumico, pela UERJ
Mestre em Cincia Florestal, pela UFV/MG
Especialista de Nvel Superior, do Arquivo
Nacional
E-mail: quimica@arquivonacional.gov.br
SUMRIO
1.0 Introduo
2.0 Mineralogia do stio
3.0 Deteriorao natural do stio
4.0 Agentes de limpeza
4.1 AB57
4.2 gua
4.3 Agentes seqestrantes
4.4 Alvejantes
4.5 Detergentes
Obs. do tradutor: O texto apresenta-
do parte do original, que contempla
tambm e consolidantes e pesticidas.
Acreditamos que este estudo seja in-
teressante no somente para conserva-
dores que trabalham com arte rupestre,
mas para todos aqueles que se interes-
sam pelo assunto e pela ao dos
agentes de limpeza sobre superfcies
lapdeas.
1.0 Introduo
Avanos na tecnologia de produtos
qumicos tm produzido muitas sub-
stncias que so potencialmente teis
para a preservao de artefatos ar-
queolgicos. Diante do atual nvel de
sucesso, e da desesperada necessidade
de medidas a serem tomadas para pro-
teger esta parte do nosso patrimnio
arqueolgico, no de se surpreender
que conservadores considerem inter-
venes diretas com produtos qumicos
em alguns stios arqueolgicos. Esta ne-
cessidade percebida engendrou um
bom debate entre arquelogos sobre a
necessidade e a adequao deste tipo
de medidas de conservao.
O levantamento da literatura recente
de arte rupestre revela que numerosos
conservadores tm utilizado uma ou
mais formas de intervenes qumicas
nos seus projetos. Infelizmente, muitos
desses relatrios omitem detalhes de
produtos qumicos utilizados e os efeitos
que tiveram nos stios. Virtualmente,
no h literatura a ser achada detalhan-
do a aplicao de produtos qumicos,
embora razovel assumir que nem to-
dos os produtos qumicos foram ben-
ficos quando aplicados no stio. Esta fal-
ta de informao faz extremamente
difcil o acesso validade sobre o uso
de produtos qumicos.
Por que o uso inapropriado de produ-
tos qumicos tem o potencial de danos
irreversveis em arte rupestre (em pin-
turas em particular), uma compreenso
completa dos princpios bsicos da
qumica aplicada deveria ser um pr-req-
uisito para muitos dos conservadores
diante do seu uso. Idealmente, isto de-
veria incluir um conhecimento comple-
to de todas as possveis reaes (e
mecanismos intermedirios) que cada
produto qumico poderia ter nos sub-
stratos da rocha, nos pigmentos e nos
produtos de intemperismo natural. Em
situaes onde a substncia projeta-
da para permanecer no stio, como no
caso de consolidantes, os efeitos dos
seus prprios processos de deterio-
rao tm que ser tambm claramente
entendidos.
Existe uma grande literatura de produ-
tos qumicos que pode ser acessada
para fornecer esta informao. No en-
tanto, uma literatura relevante no ex-
iste de uma forma coesa, fazendo com
que uma documentao completa seja
um enorme objetivo, e muito alm do
objetivo desta reviso. Com a exceo
do manual (Lambert 1989), um resumo
de prticas de conservao de arte
rupestre (Rosenfeld, 1988) e um artigo
anteri or (Schwartzbaum 1985), os
efeitos de intervenes diretas per-
manece em sua maior parte no docu-
mentada. Aparentemente no h uma
reviso completa delineando os efeitos
de produtos qumicos normalmente uti-
lizados por conservadores em stios de
arte rupestre na Austrlia.
Torna-se ento necessrio question-
ar como todo e qualquer conservador
ciente se os seus planos estratgicos
de intervenes qumicas sero benfi-
Artigo
Ano VX n I - Setembro de 2004
5
cos. Tentativas e erros tpicos de ex-
perimentos podem ser empregados,
mas isto vai requerer muitos anos de
estudo antes que resultados significa-
tivos sejam obtidos. Assim sendo, a in-
terveno (se foi experimentada em
stio) pode ser irreversvel, ou anos mais
tarde a deteriorao pode ter ocorrido,
e fatores ambientais que afetam esta
deteriorao podem ter mudado. Enten-
dendo as reaes mais usuais entre
produtos qumicos e a superfcie arts-
tica ir fornecer algumas respostas para
esta questo, e possivelmente limites
requisitados para estilos de experimen-
tos de longa durao. Isto pode tam-
bm induzir ao desenvolvimento de
produtos qumicos que so teorica-
mente no aplicveis ou adequados
para um trabalho especfico de conser-
vao.
O objetivo desta reviso portanto
resumir instncias de interveno dire-
ta com produtos qumicos em stios de
arte rupestre em todo o mundo, e de-
bater os efeitos observados em termos
das reaes envolvidas mais comuns.
Uma determinao de reaes poten-
ciais entre produtos qumicos e outros
mi nerai s ou pi gmentos tambm
fornecida. Espera-se ento que este
pequeno resumo apresentado aqui
ser til como um guia para avaliao
de adequao de algumas classes co-
muns de produtos qumicos, antes de
sua aplicao num stio de arte rupes-
tre. Se for bem sucedido, pode servir
como um ponto de partida til para con-
servadores que contemplam inter-
venes diretas com produtos qumi-
cos em stios e futuros debates cient-
ficos detalhados no campo de inter-
venes diretas para conservao do
nosso patrimnio de arte rupestre.
2.0 Mineralogia do stio
Antes que qualquer produto qumi-
co seja aplicado, importante conhec-
er a composio mineralgica e geo-
qumica do stio. Isto fornecer infor-
maes pertinentes aos componentes
geoqumicos presentes e informaes
complementares que so vitais para
permitir a previso de qualquer possv-
el reao que possa ocorrer. Porque to-
dos os stios so nicos em termos de
estrutura qumica, torna-se imperativo
o estudo de cada stio como uma base
individual, mas com o aumento do con-
hecimento da utilizao de produtos
qumicos nos stios, algumas general-
izaes tornam-se possveis. Desta for-
ma pode-se assessorar a compreenso
e a previso da natureza, nveis e ex-
tenso que cada reao qumica ocor-
rer, e esclarecer algumas especu-
laes para suas origens.
A aplicao sofisticada de tcnicas
analticas de raios X no campo da geo-
qumica tem fornecido informaes
pertinentes para stios de arte rupestre
que foram coletadas desde meados
dos anos 80. Difrao de raios X uma
ferramenta particularmente adequada
porque permite que a mineralogia, as-
sim como a composio qumica dos
componentes dos materiais seja esta-
belecida. Tem sido aplicada de uma for-
ma mundial como base cientfica, com
alguns resultados interessantes (Lor-
blanchet et al 1990, Hyman et al 1996,
Clarke e North 1991).
xidos de ferro na forma de hemati-
ta e suas fases mineralgicas associa-
das representam uma grande parte dos
pigmentos utilizados na arte rupestre.
Minerais de base calcria, normal-
mente calcita ou dolomita figuram
bem, embora huntita largamente uti-
lizada nas regies de Kimberley do
oeste da Austrlia. Outros analistas tm
reportado substncias mais exticas
como singenita, jarosita, vedelita e
vevelita. Estas ocorrem normalmente
em menores quantidades, e provavel-
mente representam somente compo-
nentes minoritrios ou produtos do in-
temperismo de pigmentos originais.
As anlises mostram que Fe, Ca, Al,
Mg e K so as espcies catinicas dom-
inantes nos pigmentos de arte rupes-
tre. Associados a esses existem uma
grande variedade de espcies anini-
cas que definem as suas caractersti-
cas fsicas tais como a reatividade e sol-
ubilidade. Os minerais mais comuns ex-
istem como carbonatos (CO
3
)
2-
, sulfatos
(SO
4
)
2-
e xidos
O
2-
com oxalatos (C
2
O
4
)
2-
, sendo es-
tes ltimos bem representados entre
os conhecidos produtos de deterio-
rao. Em conseqncia, a gama de
qumica que aqui foi revisada ir girar
em torno dessas espcies inicas.
3.0 Deteriorao natural do stio
Uma vez que a geoqumica do stio
tenha sido estabelecida, os fatores que
causam a sua deteriorao devem ser
determinados. Isto permite que algu-
mas das reaes qumicas comuns se-
jam especificadas, fornecendo infor-
maes teis para propsitos de pre-
veno assim como o estabelecimen-
to de nveis normais de deteriorao
de pigmentos. A deteriorao qumica
completa do stio um estudo cientfi-
co extenso e complexo, e a literatura
sobre qumica repleta de estudos que
relacionam muitas variveis. O tempo
e espao no permitem uma reviso
compreensiva deste assunto, ento so-
mente os dois mais importantes pro-
cessos qumicos, dissoluo e reaes
diretas sero cobertos aqui. Estudos de
intemperismo indicam que o principal
processo envolve dissoluo seletiva
de espcies catinicas. Este processo
parece ser incrementado pela presena
de cidos orgnicos naturais que resul-
tam do desgaste da vegetao ou como
produtos decorrentes do crescimento
de liquens. Muitos cidos orgnicos so
agentes seqestrantes, e so conheci-
dos por quebra de rochas atravs de
lixiviamento de ctions em formas de
complexos estveis de organo-metli-
cos. Estudos de dissoluo de ctions
de feldspatos mostraram que ctions
podem ser retirados de substratos de
acordo com uma ordem que segue con-
j untamente a capaci dades se-
qestrantes do cido utilizado. Para
reaes em temperatura ambiente, a
seqncia que foi encontrada :
Ctrico > Tartrico > EDTA > Oxlico
> Saliclico > Malnico > O-Ftlico > As-
prtico > Actico
(Schalscha et al 1967, Huang e Ki-
ang 1972, Chin e Mills 1991). Estas
substncias so significativamente
menos reativas do que cidos inorgni-
cos, mas dependendo da facilidade com
que processos de intemperismo ocor-
rem, parecem suficientemente eficaz-
es em baixas concentraes ou atravs
de longos perodos.
Estudos comparativos em laboratri-
os tm mostrado que o intemperismo
natural (com ou sem a influncia de c-
idos orgnicos) pode ser duplicado
(Swoboda-Colberg e Drever 1993). Os
resultados tendem a ser 200-400 vez-
es mas rpidos em condies controla-
das de laboratrios do que no ambiente
natural. Acelerar a velocidade da dete-
riorao til no sentido de permitir
uma apreciao mais rpida e controla-
da de efeitos futuros que qualquer
produto qumico produzir, sem ter que
esperar anos por um resultado.
Quando velocidades e modos de de-
teriorao foram determinados, torna-
se possvel avaliar se alguma aplicao
de produto qumico produziu uma mel-
hora ou uma deteriorao. Para um
produto ser classificado como til, ele
deveria causar uma diminuio da ve-
locidade de deteriorao, e preferente-
mente produzir nenhum efeito colat-
eral, alm daqueles normalmente ob-
servados. Certamente, se ele evita
qualquer efeito colateral assim como
a diminuio da velocidade de deteri-
orao, ento ele ser de grande util-
idade para propsitos de conservao.
Exi stem i nmeros mecani smos
qumicos possveis pelos quais um s-
tio pode passar, e estes so inteira-
mente dependentes das condies
Boletim Informativo da Associao Brasileira de Conservadores - Restauradores de Bens Culturais
6
ambientais do momento. Possveis
mecanismos de reao para deterio-
rao de produtos que so de inter-
esse de conservadores de arte rupes-
tre so mencionados aqui. Isto deve
auxiliar a um entendimento de como
melhor evitar as suas formaes.
A formao natural de gesso pro-
veniente da calcita pode ocorrer como
uma reao de dois gases atmosfri-
cos comuns atravs dos seguintes es-
tgios (Clarke e North 1991):
CaCO
3
+ H
2
S CaS + H
2
CO
3
seguido de: CaS + 2H
2
O + 2O
2
CaSO
4
.2H
2
O
e
CaCO
3
+ SO
2
CaSO
3
+ CO
2
seguido de CaSO
3
+ 4H
2
O + O
2
CaSO
4
.2H
2
O
Uma terceira possibilidade existe,
onde SO
2
no reage diretamente com
a calcita, mas como um cido diludo
atravs dos seguintes mecanismos,
comeando pela lenta difuso do ox-
ignio atmosfrico e SO
2
para formar
H
2
SO
4
, atravs de sries complexas
intermedirias
2SO
2
+
O
2
+2H
2
O 2H
2
SO
4
segui do de: H
2
SO
4
+ CaCO
3
CaSO
4
+ CO
2
A hidratao do CaSO
4
promover
a formao dos cristais de gesso mais
comuns. Se condies bsicas ex-
istem, vevelita e vedelita podem ser
formados atravs do seguinte:
CaCO
3
+ 2 OH
-
Ca(OH)
2
+ CO
3
2-
seguido Ca(OH)
2
+ H
2
C
2
O
4
+ H
2
O
A formao de espcies exticas
como jarosita coloca maiores proble-
mas. Jarosita formada pela oxidao
de piritas (Gaines et al 1997), mas no
parece ser muito estvel, sendo facil-
mente convertida em goetita ou fer-
ro-hidratado, em condies ambien-
tais normais (Stoffregen 1993). A de-
teriorao da goetita acreditada ser:
KFe
3
(SO
4
)
2
(OH)
6
3FeO.(OH) + K
3H + 2SO
4
2-
Embora isto no seja necessaria-
mente rel aci onado com a deteri o-
rao do stio, interessante notar
que isto possvel para hematita ser
gerada por outros pigmentos de ferro
(goetita) em condies tropicais nor-
mais ou em condies de ambientes
desrticos (Cook et al 1990). Isto pode
ser explicado pelo equilbrio:
2FeO.(OH) Fe
2
O
3
+ H
2
O
Produtos de deteriorao formados
por reaes so comumente precipi-
tados sobre a superfcie da rocha sob
a forma de eflorescncias salinas. Eles
se dissolvem novamente na gua do
solo e da chuva, so redistribudos em
torno do stio, muitas vezes precip-
i tando-se nas superf ci es da arte
rupestre. Isto causa escurecimento
das pinturas, necessitando a remoo
dos sais danosos para melhorar a vis-
ibilidade da arte rupestre, e para evi-
tar maiores degeneraes como re-
sultado de uma reao direta entre o
sal e o pigmento subjacente.
4.0 Agentes de limpeza
Agentes de limpeza podem ser us-
ados em muitos stios para melhorar
a visibilidade da arte rupestre que se
tornou obscura pela deteriorao de
produtos, ou que foram deliberada-
mente vandalizados com pinturas ou
outras substncias. O requisito para
sua apl i cao sobre o que so
grandes reas de superfcies artsti-
cas significa que eles tm que ser
extremamente sel eti vos nas suas
aes, e no dissolver nenhum dos
pigmentos naturais, nem o substrato
da rocha. Mtodos especiais de apli-
cao foram desenvolvidos para aju-
dar a preveno da destruio manu-
al nos casos onde a composio do
s ti o i nstvel ou extremamente
frivel. Isto envolve a aplicao de
gels ou compressas que servem para
minimizar o contato entre os agentes
de limpeza e os pigmentos no afeta-
dos.
Uma grande gama de agentes de
limpeza orgnicos e inorgnicos fo-
ram desenvolvidos em resposta var-
i edade de substnci as que so
necessri as a serem removi das.
Amnia diluda tem sido utilizada para
remoo de grafiti de determinadas
composies qumicas em Niaux (Bru-
net et al 1995); solventes orgnicos
para remoo de grafiti pintados (Sale
e Padgett 1995; Bednari ck 1995);
bases di l u das de sai s de cl ci o
(Schwartzbaum 1985) e uma quan-
tidade de produtos qumicos para re-
moo de ferro e manchas de ferru-
gem (Finn e Hall 1995). A reatividade
qumica de alguns dos mais comuns
agentes de limpeza descrita abaixo:
4.1 AB57
AB57 um agente de limpeza que
foi projetado especificamente para re-
moo de incrustaes de carbonato
de cl ci o de pi nturas murai s
(Schwartzbaum 1985). Esta incrustao
o resultado da demorada lixiviao das
argamassas dos murais. Devido ao seu
grande sucesso, ele se foi aceito como
um produto qumico adequado para lim-
peza de arte rupestre e tem sido usado
com sucesso no sul da Frana (Dangas
1995). AB57 consiste em uma soluo
de diluio de amnia e bicarbonato de
sdio, que ir dissolver os carbonatos.
CaCO
3
+ 2HCO
3
-
! Ca
2+
+ 2HCO
3
-
+
(CO
3
)
2-
onde a remoo dos ons de carbon-
atos estaro presentes como carbon-
atos solveis de que o carbonato de
clcio, ento o equilbrio direcionado
bem para a direita.
Porque AB57 um agente de limpe-
za projetado para um propsito espec-
fico (ie remoo de incrustaes de cl-
cio), ele no pode ser usado em outras
circunstncias. Danos irreparveis po-
deriam ser causados se ele aplicado
sobre pinturas onde o pigmento princi-
pal usado huntita ou calcita, j que
quantidades de pigmentos poderiam
facilmente ser removidos assim como
a incrustao. Interferncias com out-
ras espcies de minerais carbonatadas
tambm iro acontecer como resulta-
do de uma transferncia para uma
reao de equilbrio apropriada como a
mencionada acima.
4.2 gua
Classificada como solvente univer-
sal devido a sua habilidade de dissolv-
er mui tos produtos qu mi cos, os
efeitos da gua sobre os pigmentos da
arte rupestre so muitas vezes negli-
genciados. freqentemente usada a
lavagem de superfcies artsticas para
remoo de poeira e eflorescncias
salinas, no esforo de fazer os pigmen-
tos e incises mais visveis para fo-
tografia. O impacto da gua pode ser
significativo e tambm o distribuidor de
muitos outros produtos qumicos que
podem ter sido usados no stio.
A gua raramente reage com os pig-
mentos em temos de mudana das
suas estruturas fundamentais, mas
pode polarizar a estrutura molecular e
lev-la a uma soluo em alguns casos.
A solubilidade depender da qumica
do pigmento, mas algumas regras
gerais podem ser aplicadas. Alterando
o pH da gua (pela adio de substn-
cias cidas ou bsicas) pode-se atingir
a dissoluo de minerais atravs de
reaes, criando solutos de uma com-
posio qumica diferente do mineral
original. Como estas reaes so nor-
malmente destrutivas para a superfcie
da rocha, cidos e bases deveriam ser
usados somente em raras situaes.
Ano VX n I - Setembro de 2004
7
Hidrxido de sdio foi sugerido
como agente de limpeza em situaes
onde o grafiti resistente pela remoo
de solventes orgnicos normais (Loub-
ser 1998). Deveria ser usado como lti-
mo recurso, porque ele no dissolver
a pintura, mas reagir com os ligantes
qumicos para causar a sua destruio.
Aparte da possibilidade de deixar mar-
cas irremovveis ou resduos, hidrxi-
dos tambm reagiro com muitas es-
pcies minerais substituindo o miner-
al pelo hidrxido correspondente. A
soluo de calcita em hidrxido de s-
dio conhecida por no causar a pre-
cipitao de hidrxido de clcio (Love
e Woronow 1991) como abaixo:
CaCO
3
+ OH
-
Ca(OH)
2
+ CO
3
2-
Uma grande variedade de diferentes
reaes, dependendo da composio
do pigmento pode ocorrer quando em
contato com solues bsicas. Reaes
para criar espcies insolveis de hidrx-
idos so mais comuns, e embora o ma-
terial modificado no ser removido
pela dissoluo, muda o seu carter, en-
fraquecendo as ligaes com o substra-
to, o que pode danificar o stio. Ve-
locidades de dissoluo deveriam per-
manecer inalteradas, mas a deterio-
rao fsica atravs da eroso aumen-
tar, pois as pobres ligaes dos hidrx-
idos que so precipitados podem facil-
mente escamar da superfcie rochosa.
Em contraste, cidos introduziro H
+
adicional na matriz dos pigmentos,
deslocando ctions metlicos. Isto re-
sultar numa reao vigorosa onde o
ction metlico combina-se com o
nion cido para produzir um sal solv-
el. gua e gases tambm podem ser
liberados em algumas situaes. Por
exemplo:
CaCO
3
+ H
2
SO
4
! CaSO
4
+ H
2
O + CO
2
A solubilidade do pigmento pode
ento ser interpretada de acordo com
a qumica do sal produzido, mas pode
geralmente ser esperado o seu aumen-
to como um resultado da reao. Ex-
cees ocorrero como resultado de
efeito comum do on, causado onde o
componente aninico do cido e do
mineral o mesmo. Por exemplo, o
gesso (CaSO
4
.2H
2
O), porque a dis-
soluo j saturada com ons de sulf-
ato (SO
4
).
A solubilidade de qualquer substn-
cia qumica na gua pode ser calculada
atravs de valores experimentais de
solubilidade de determinados produtos
K
ps
(Companhia Qumica Rubber 1997).
Enquanto tabelas estabelecem uma
idia de uma quantidade relativa de
cada produto qumico que pode ser dis-
solvido na gua, elas tm uma limitao
para aplicao com minerais que esto
na natureza. A solubilidade real ou com-
pleta de um mineral pode diferenciar
de produtos qumicos anlogos por
causa da presena e da natureza de im-
purezas inclusas na matriz do mineral.
A aplicao de compressas de gua
destilada em incrustaes de clcio no
stio Lower Pecos River (Mawk e Rowe
1998) resultou na dissoluo de gesso,
em preferncia de vevelita e calcita. Em
situaes onde a incrustao difcil
de ser removida, outras substncias,
tais como agentes seqestrantes, so
comumente adicionadas gua para
auxiliar a dissoluo.
4.3 Agentes seqestrantes (ou
quelantes)
Agentes seqestrantes so substn-
cias que removem ctions polivalentes
das rochas e dos minerais. Eles aumen-
tam significativamente a solubilidade
de qualquer mineral ou xido como re-
sultado da formao de espcies ini-
cas complexas e estveis. Um imenso
nmero de agentes seqestrantes
conhecido, mas somente o cido diami-
no tetractico etileno (EDTA) parece ter
feito um impacto na conservao ar-
queolgica. A adio do EDTA no AB57
melhorou a sua capacidade de remov-
er crostas calcrias, que foram endure-
cidas como resultado da alterao de
vevelita e vedelita.
Constantes de estabilidade K
stab
so
indicadores teis para a habilidade de
seqestrar e formar complexos com
ctions. Em geral, complexos sero
mais estveis e mais fceis de serem
formados, em casos onde a estabil-
idade constante alta. Valores que so
similares indicam que haver com-
petio nas espcies inicas para for-
mao de metais. Ca, Fe, Mn e Al
produziro complexos estveis com
EDTA.
O uso do EDTA problemtico,
porque sua habilidade de formas com-
plexos estveis com a maioria dos c-
tions bi-, tri- e tetravalentes, o faz ex-
tremamente no seletivo na sua ao.
A aplicao de EDTA em pigmentos
resultar na dissoluo de espcies
de Fe (II) e Al (III), em quantidades
similares ao Ca (II) que so removi-
dos, fazendo-o um dos mais destruti-
vos produtos qumicos em uso cor-
rente.
Enquanto a eficincia da ao se-
qestrante do EDTA pode ser altera-
da por variaes em solues de pH,
isto no ir necessariamente influen-
ciar a sua seletividade e pode causar
futuros danos, resultando em ataques
cidos ou bsicos em pigmentos. A se-
letividade dos
agentes seqestrantes primeira-
mente governada pelo tamanho do anel
seqestrante (Hancock 1992), com
grandes molculas sendo capazes de
remover seletivamente espcies cat-
inicas grandes. Compostos macroc-
clicos, tais como teres de coroa e polif-
enis so reconhecidos com agentes
superiores de quelao para solues
de limpeza por causa das suas grandes
seletividades e habilidades para dis-
solver metais inicos em agentes no
aquosos (Chartier 1991). Pesquisas fu-
turas nesta rea da qumica poderiam
levar ao desenvolvimento de impor-
tantes e especficos agentes de lim-
peza.
Outros agentes seqestrantes fo-
ram usados como o cido tiogliclico
, cido ctrico, tioglicolato de amnia,
gluconato de sdio e citrato de tri-s-
dio (Finn e Hall 1995). necessrio
enfatizar, contudo, que so usados
somente para remover manchas de
ferrugem deixadas aps a remoo de
antigos assentamentos de trilhos em
Gariwerd. Vevelita, calcita, quartzo e
hemati ta no foram seqestrados
num nmero significativos desses
produtos qumicos, embora tenham
sido notadas precipitaes sobre he-
matita e vevelita. Nenhuma indicao
da natureza dessas precipitaes foi
estabelecida.
Agentes redutores (tiosulfato de
sdio e de amnia, e hidrossulfito de
sdio) no removeram nenhuma man-
cha de ferrugem, embora sej am
agentes redutores poderosos, alter-
ando Fe(III) na sua forma mais solvel
Fe(II). Isto sugere que a maior parte
da ferrugem presente, como o on
bivalente e a reduo para Fe (I), no
iria ento facilmente ocorrer. Eles no
foram testados em hematita, que a
mai ori a do ferro tri val ente como
Fe
2
O
3
. A sua capacidade de trazer he-
mati ta em di ssol uo permanece
desconhecida.
4.4 Solventes orgnicos
Uma vari edade de sol ventes
orgnicos desconhecidos, principal-
mente removedores de tinta, tem
sido usada com bom efeito no proje-
to Pai nted Rock (Sal e e Padgett
1995), e na Sibria (Bednarik 1995).
Deve-se ter cuidado na sua aplicao
porque eles tm a tendncia de dis-
solver novamente a tinta (causando
futura penetrao na rocha), ou eles
podem manchar ou clarear a super-
fcie do trabalho de arte. Para minimi-
zar a probabilidade de ocasionar man-
chas, eles so normalmente aplicados
em compressas ou gels, tornando
Boletim Informativo da Associao Brasileira de Conservadores - Restauradores de Bens Culturais
8
possvel limitar e controlar o contato
com os pigmentos superficiais.
Manchas escuras so observadas
nas regies onde a pintura foi removi-
da nos stios da Sibria. A origem des-
sa mancha escura no esclarecida.,
mas acredita-se que resultado da in-
terao entre o substrato da rocha e
um dos diluentes da pintura original
(Bednarik 1995). Embora isto possa
ser possvel h pouca evidncia para
suportar a sugesto de que os dilu-
entes tenham causado a mancha dis-
solvendo o mineral. A solubilidade
mineral em solventes orgnicos no
foi muito pesquisada e dentre os pou-
cos exemplos estudados, a maioria
dos componentes alcalinos terrosos
mostram ser menos solveis em sol-
ventes orgnicos do que na gua (Pin-
gitore et al 1993; Stenger 1996). An-
lises mais minuciosas desta infor-
mao sugerem que a solubilidade
diminuir direta e proporcionalmente
ao aumento da constante dieltrica do
solvente (e).
Constantes dieltricas podem ser
consideradas uma expresso da ha-
bi l i dade do sol vente em di ssol ver
substncias inicas. Bons solventes
normalmente tm alta polaridade, e
conseqentemente valores altos de
e. A extrapolao lgica de que
menos solventes polares so encon-
trados nos removedores de tinta ou
como diluentes (benzeno, xileno, tol-
ueno e cloreto de metil) sero inca-
pazes de dissolver quantidades sig-
nificativas de minerais. A adio de
gua ou outros solventes ao sistema
no aumenta a solubilidade do mate-
rial inorgncio (Mydlarz e Jones 1991;
Chavione-Filho e Rausmussen 1993).
Conseqentemente, a solubilidade de
um sistema de misturas de solventes
continua a ser governada pelo valor
de e do sistema. O material inorgni-
co no ser mais solvel num siste-
ma de misturas de solventes do que
no componente do sistema que tem
o maior valor de e, mas a sua solubil-
idade ser diretamente relacionada
concentrao do componente dentro
do sistema estudado.
Em conjunto com a sua falta de ca-
pacidade de aumentar a dissoluo,
sol ventes orgni cos so tambm
aparentemente menos reativos dire-
tamente com minerais, de uma for-
ma destrutiva. No entanto, interaes
especficas de solventes tm sido ob-
servadas alterando a acidez da super-
fcie e portanto a reatividade dos min-
erais, tais como a goetita (Xue e Trai-
na 1996), indicando que solventes
orgnicos podem no ser to inertes
como considerados previamente. Sol-
ventes orgnicos que tm base fenli-
ca so tambm conheci dos por
produzir reaes redutivas com a su-
perfcie da hematita (Kung e Mcbride
1991).
Impurezas dentro dos solventes
orgnicos, assim como quantidades
minsculas de solventes podem ser
absorvidas pela superfcie do miner-
al, e isto pode ter resultado numa des-
caracterizao do stio. Acetona pode
ser adsorvida na superfcie da hema-
tita, onde ela transformada em xi-
do de mesitilo (Busca e Lorrenzelli
1982), e tol ueno conheci do por
polimerizar, quando em contato com
motmori l oni t a. ( Ti pton e Gerdom
1992). Ambas substncias contm
ligaes duplas insaturadas, similares
s conheci das por causar descol -
orao em polmeros orgnicos. No
entanto, no h nenhuma evidncia
consistente para suportar a sugesto
que algum desses produtos qumicos
existiam na pintura original ou pode-
riam ter afetado o stio desta forma.
Sem saber a composio qumica
da superfcie do stio da Sibria ou
dos pigmentos e pesquisas mais apro-
fundadas sobre a pintura, impossv-
el saber qual mecanismo de ao e a
origem correta das manchas escuras.
Por que as manchas parecem ser ir-
reversveis, o programa para remoo
de grafiti foi suspenso neste stio e
maiores informaes esto por ser-
em obtidas.
4.5 Alvejantes
Embora alguns fungicidas so co-
mumente utilizados para remover liq-
uens, agentes alvejantes tm sido
usados para limpar a arte coberta por
liquens no stio de Ranch em Free-
mont, Wyoming (Childers 1994). En-
quanto liquens so efetivamente re-
movidos sem danos fsicos aparentes
para a rocha, o substrato abaixo do
lquen morto tem sido observado com
uma colorao mais clara, depois de
sua remoo. Dada esta evidncia, o
clamor de que liquens podem ser
fcil e seguramente removidos de
petroglifos sem qualquer dano (de-
pois do uso do alvejante Clorox )
parece ser uma afirmao audaciosa.
Uma mudana de cor do substrato da
rocha normalmente uma boa ev-
idncia de que algum tipo de reao
qumica ou destruio fsica ocorreu.
Clorox uma soluo de 5,25% de
hipoclorito de sdio e 4% de cloreto
de sdio em gua, tendo um pH de
11,4 (Pingitore et al 1993). Tem mos-
trado alterar a qumica de cristais de
aragonita, atravs de processos sele-
tivos de reao com interstcios de
impurezas de Fe, Mg, e Sr, sem afetar
o clcio cristalino. Isto pode ser expli-
cado, porque a dissoluo do carbon-
ato de clcio inibida por solues
altamente bsicas, enquanto que out-
ras espcies inicas no o so e po-
dem reagir para formar rapidamente
compostos sol vei s ( Love e
Woronow 1991).
Este tipo de seleo reativa teori-
camente possvel em qualquer super-
fcie rochosa, particularmente onde
acontecem defeitos nos cristais ou
ligaes fracas entre os minerais. A
sugesto de que o Clorox possa ter
removido parte da rocha, assim cau-
sando uma colorao mais clara (Trate-
bas e Chapman 1996), poderia ser
perfeitamente vlida a luz desta ev-
idncia. Contatos mais longos do en-
charcamento dos liquens com o alve-
jante podem ser responsveis pela
observao de que a descolorao
ocorreu somente onde os organismos
permaneceram e no em reas onde
o alvejante foi apenas pulverizado.
Estudos microscpicos de reas
afetadas so necessrios para asseg-
urar se a descolorao resultado de
uma reao seletiva dos fragmentos
dos minerais, ou de uma destruio
fsica causada quando pedaos da
rocha que foram enraizados pelos liq-
uens caram com eles.
4.6 Detergentes
Os efeitos dos detergentes so
talvez os menos estudados de todos
os agentes de limpeza. Eles tm ex-
celente adequao a obras histricas
e artsticas, onde os pigmentos so
ligados e protegidos por alguma for-
ma de barreira de consolidao, mas
os seus efeitos em ligaes fracas
de pigmentos de arte rupestre ainda
devem ser estabelecidos. O impor-
tante que eles so no-inicos (Lam-
bert 1987) , de forma a preveni r
quaisquer reaes com minerais po-
tencialmente solveis.
Detergentes do tipo Lissapol N
tm sido usados em stios de arte
rupestre sem nenhuma evidncia de
efeito danoso, mas ainda requerem
estudos vigorosos. Alconox con-
hecido por aumentar a solubilidade da
calcita (Love e Woronow 1991), pre-
sumivelmente como resultado de sua
composio rica em fosfato, ou pro-
priedades de diminuir a tenso super-
ficial. Enquanto possvel que fosfa-
tos solveis possam ser formados
nas superfcies de metais, se concen-
traes de fosfatos so suficiente-
mente altas nos detergentes, no
podem ser feitos comentrios poste-
riores at que maiores informaes
estejam disponveis.
Ano VX n I - Setembro de 2004
9
DESENVOLVIMENTO DAS INDSTRIAS DE
POLPA DE CELULOSE E DE PAPEL: FATORES QUE
INFLUENCIARAM O AUMENTO DA PRODUO E
A DURABILIDADE DO PAPEL
Artigo
Foi desenvolvido um estudo a partir
de bibliografias tcnicas, descrevendo
a evoluo dos equipamentos, das
matrias-primas e dos processos qumi-
cos utilizados na fabricao de polpa
celulsica e de papel, entre os sculos
V e XX e suas influncias na durabil-
idade do papel.
Pal avras-chave : preservao,
histria, papel, deslignificao, pol-
pao, processo Kraft, branqueamen-
to, durabilidade.
Antonio Gonalves
da Silva
Autor
Engenheiro Qumico, pela UERJ
Mestre em Cincia Florestal, pela UFV/MG e
Especialista em Nvel Superior do Arquivo Na-
cional/Setor de Restaurao
Rua Azeredo Coutinho 77, CEP 20.230-170 -
Rio de Janeiro
Tel (21) 3806 6145
e-mail: quimica@arquivonacional.gov.br
** Arquivo Nacional - Reviso de Portugus
*** Conservadora-Restauradora do Arquivo
Nacional - Redao Tcnica Conservao-Res-
taurao
E-mail: adrianahollos@arquivonacional.gov.br
Nacional
E-mail: quimica@arquivonacional.gov.br
INTRODUO
Desde sua inveno por Tsai Lum
em (105 D.C), o papel teve seu uso
restrito entre os chineses por aproxi-
madamente oito sculos, at que os
artesos responsveis por sua manu-
fatura fossem apri si onados pel os
rabes em Sarmankada.
A partir da, os rabes passam a ser
os responsveis pela divulgao do
papel no ocidente. No sculo XII este
produto chega Europa, sendo que
neste continente a matria prima j
havia sido substituda pelos trapos de
tecidos.
Estas mudanas de matria-prima
para produo de papel iniciaram-se
provavelmente antes de 750 D.C .
Na China os papis eram feitos
com as fibras da entrecasca de uma
r vore denomi nada Mul berr y. Os
rabes no experimentaram este
tipo de material fibroso, ao iniciarem
a produo de papel na Europa, pois
preferiram utilizar os trapos de linho
tratados com o lcali Hidrxido de
Sdio (NaOH) para a remoo de ma-
teriais gordurosos e pigmentos. Es-
tes trapos eram por vezes retirados
de mmias egpcias, e tambm trat-
ados com este mesmo lcali.
Ao observarmos as caractersticas
de deteriorao dos acervos em pa-
pis, produzidos a partir do sculo
XIX, verificamos que as modificaes
ocor r i das nos pr ocessos de
produo, a partir deste perodo foi
acompanhada por uma queda na sua
qualidade.
Documentos em papis de trapo
produzidos at meados de 1850, en-
contram-se em boas condies de
conservao. Entretanto, as tintas
met al oci das ut i l i zadas nos
manuscritos deste mesmo perodo
que so as responsveis por sua
degradao.
O tema deste estudo um relato
das modificaes ocorridas nos pro-
cessos de produo de pol pa ce-
lulsica e de papel entre os sculos
V e XX e uma descrio das influn-
cias na durabilidade dos papis e das
alteraes industriais promovidas na
fabricao da polpa celulsica e do
papel.
Inicialmente neste trabalho de-
screveremos as mudanas ocorridas
nos processos de polpao, isto as
tcni cas de produo de fi bras a
partir de vegetais, seguindo-se pelo
seu branqueamento. No fi nal de-
screveremos as mudanas ocorridas
no processo de produo de papel
POLPA CELULSICA
Para falarmos de papel inicial-
mente devemos descrever sua prin-
cipal matria prima, que so as fibras
celulsica. As fibras podem ser clas-
sificadas em vegetais, animais, min-
erais e artificiais. As utilizadas na fab-
ricao de polpa celulsica para pa-
pel so obtidas, quase que exclusi-
vamente, a partir de matrias-primas
vegetais.
A partir do sculo VII a deslignifi-
cao qumica j era realizada, sendo
que nesta poca os chineses cozin-
havam as fibras da entrecasca da r-
vore Mulberry com soluo de cin-
zas de madeira, que continham car-
bonatos , hidrxido de sdio e lama.
Em meados do sculo XVII o surgi-
mento de grandes qumicos como
Lavoi si er e Gay-Lussac contri bui u
par a o desenvol vi ment o e a
descoberta de novos produtos e pro-
cessos que possibilitaram a substi-
tuio das matrias-primas, utilizadas
na indstria papeleira. Exemplo dis-
to foi a substituio dos trapos de
teci dos por matri as-pri mas mai s
abundantes, inicialmente as palhas
de cereais e posteriormente as ma-
deiras. desta poca o desenvolvi-
mento de processos de produo de
fibras de celulose a partir de vege-
tais.
No incio do sculo XVIII, o gover-
no da Inglaterra ofereceu 1 milho
de libras para quem descobrisse um
processo para produzir matria-prima
para a fabricao de papel que sub-
stitusse os trapos de tecido, j es-
cassos, devido ao aumento da deman-
da. O incremento no fabrico de pa-
Boletim Informativo da Associao Brasileira de Conservadores - Restauradores de Bens Culturais
10
pel durante e aps o sculo XVI por
i nfl unci a da Reforma e da i m-
presso com caracteres mveis, con-
duziu rapidamente a uma grave es-
cassez da matria prima e regu-
lamentao do comrcio do trapo. A
procura sistemtica de substitutos
para o trapo durante e aps o sculo
XVIII pouco sucesso teve. A palha foi
de fato uma hiptese devido situ-
ao agravada pela introduo das
primeiras mquinas de papel verda-
dei ramente efi ci entes a parti r de
1825, mas no conseguiu impor-se
devido baixa qualidade do papel
produzido. Somente a inveno da
pasta mecnica de madeira pelo ale-
mo Kel l er e da past a qu mi ca
(primeiras patentes em 1854: Melli-
er Wat t ) vi er am r esol ver est e
problemareferncia.
DALMEIDA (2000) menciona que
o francs Ferchaut de Ramur em
1719, foi o primeiro a sugerir que da
madeira podia-se fabricar o papel,
embora no o tivesse experimenta-
do. Esta sugesto veio da observao
do trabalho de vespas na feitura de
seu ninho. At o final do sculo XVIII
praticamente todo papel era fabrica-
do com trapos de algodo, linho ou
pela mistura destes materiais.
O avano da deslignificao ini-
ciou-se em 1800, quando Koops cit-
ado por CLAYTON, D. et al. (1986),
mostrou que as palhas de cereais
possuem cerca de 16 % de lignina e
elas so facilmente deslignificadas
com solues alcalinas em ebulio,
porm fornecem polpas celulsicas
muito sujas, devido sua colorao
escura. Neste mesmo ano, este tam-
bm encontrou que as madeiras pos-
suem mais lignina e estas eram mais
difcis de serem deslignificadas do
que as palhas de cereais. No tecido
vegetal a lignina o constituinte que
fornece sua sustentao.
A polpao, e o branqueamento
tem como obj eti vo pri nci pal a re-
moo desta substncia. Os vegetais
da cl asse das Monocoti l edneas
como as pal has de cereai s e as
gramneas possuem lignina do gru-
po p-hidroxi fenil propano. Os lenhos
das Angi osper mas ou con f er as,
como os pinheiros e a Araucria
possuem lignina do grupo Siringil.
Nas madeiras de Dicotiledneas ou
folhosas como o Eucalypto . A ligni-
na formada pelos heteropolmeros
do grupo Guaiacil-Siringil A difer-
ena da lignina na composio dos
vegetais influncia nos processos de
deslignificao e de branqueamen-
to.
A segunda parte da revoluo in-
dustrial inglesa do sculo XVIII, im-
pul si onou a descoberta de novos
processos de produo de celulose.
CLAYTON, D. et al. (1989) mencio-
nam que em 1851 Buress e Watt de-
senvolveram o processo soda, atual-
mente conhecido por todos. Neste
perodo o desenvolvimento indus-
trial causou uma grande demanda
no uso de papel. Nesta poca este
j era vital comunicao, a dissem-
inao de idias e de informaes.
A descoberta do processo Soda foi
marcante, tanto que em 1854 os pro-
prietrios do jornal Times de Lon-
dres ofereceram uma recompensa de
mil Libras a quem descobrisse uma
matria prima que substituisse os tra-
pos de tecidos. Buress ficou desa-
pontado e partiu para Amrica, onde
em Julho deste ano patenteou este
processo. O mtodo foi operado in-
dustrialmente em 1866. A recusa do
governo britnico ao processo soda
de Burgess, pode ter sido devido
ausncia de um mtodo eficaz, re-
cuperao de licor negro. Naquela
poca como agora, era essencial para
o sucesso comercial do processo um
mtodo eficaz de recuperao dos
qumicos a partir do licor.
Burgess sugeria, na patente, que
o licor negro, residual da deslignifi-
cao podia ser evaporado e queima-
do para regenerao dos produtos
qu mi cos uti l i zados na pol pao.
Porm el e no descreve detal hes
metodolgico deste procedimento.
Na Amria Burgess com Morris L.
Keen patentearam em 1865 um pro-
cesso, no qual 85 % do lcali podia
ser recuperado, e este equipamento
mantido at hoje.
Experincias inglesas realizadas
durante as guerras napol eni cas
1805-1814 estabeleceram-se que a
adio de enxofre e sulfetos podem
acelerar a deslignificao alcalina das
palhas. A Primeira patente sobre o
uso de sulfeto na polpao de ma-
deira foi feita nos EUA em 1870. A
despeito disto, C.F.Dahl na Aleman-
ha comumente mencionado como
colaborador no desenvolvimento do
processo ao sulfato em 1879.
A idia original de adicionar sulfa-
to de sdio no evaporador de licor
negro, para baixar o ponto de ebu-
lio, deste produto concentrado a
cerca de 65 % de slido durante a
combusto. Ori gi nou o processo
kraft, Geralmente este processo
denomi nado de processo sul fato,
pois este era o reagente qumico
adicionado ao processo soda.
Esta nova tcnica denominada de
processo Kraft (que em alemo sig-
nifica fora), por produzir polpa que
forneci a papi s com mai ores pro-
pri edades de resi stnci as fi si co-
mecnicas, foi descoberta acidental-
mente. Com a idia de adicionar sulf-
ato de Sdio, em substituio ao Car-
bonato de Sdio no evaporador. Esta
descoberta originou o processo Kraft,
ou Sulfato. Esta nova tcnica s
rentvel devido recuperao dos
qumicos utilizados no processo, e a
gerao de energia necessria des-
lignificao.
A primeira verso comercial do pro-
cesso sul fi to foi apresentada em
1867, pelo qumico americano Ben-
jamin Chew Tilghman, recebendo pat-
ente nos EUA, pelo seu invento que
se referia ao tratamento de substn-
cias vegetais para fabricao de pa-
pis com soluo cida de Sulfito de
Clcio (CaSO
3
). Este processo cido
foi o mtodo dominante na produo
de pasta qumica at o princpio da
dcada de 60. Devido aos preos ex-
tremamente baixos da pedra calcria
e do enxofre, no havia motivos para
a recuperao dos reagentes qumi-
co, utilizado no licor de cozimento.
Os carbohidratos (CH) ou po-
lissacardeos (Celulose e hemicelu-
lose) dos vegetais so instveis em
ambi ente ci do, devi do sua mai or
degradao neste meio. Por isto, as
pol pas ci das possuem menores
teores de hemiceluloses, e so facil-
mente mais degradadas, que as al-
calinas. O uso de papis fabricados
com cel ul ose ao sul fi to pode ser
uma das causas da el evada
degradao de documentos produzi-
dos no sculo XIX. O processo cido
tambm pode degradar as molcu-
l as de cel ul ose ( amor f as) e as
hemiceluloses, e originar papis que
se degradam mais facilmente.
Atualmente o processo kraft o
mais empregado na fabricao de fi-
bras celulsicas, A partir da dcada
de 80, surgiu a necessidade de algu-
mas fbricas produzirem mais celu-
lose com baixo custo, isto foi possv-
el aumentando o rendimento em pol-
pa celulsica, solucionando assim o
problema de restrio de produo
do digestor. Este aumento foi pos-
svel a partir da adio de produtos
qumicos, em quantidade catalticas
na deslignificao kraft ou soda, orig-
inando os cozimentos modificados,
pela incluso de substncias qumi-
cas, como a antraquinona (AQ), o Po-
lissulfeto de Sdio (PS), ou as duas
substnci as j untas, ori gi nando os
processos kraft-AQ ou soda-AQ, kraft-
PS e kraft-AQ/PS. que o aumento no
rendi mento em pol pa poss vel ,
atravs da reduo das reaes de
degradao dos CH .
Outra metodologia de aumento
Ano VX n I - Setembro de 2004
11
de produo a baixo custo, foi con-
seguida atravs da realizao do coz-
imento kraft, em condies mais sua-
ves, isto , com menor temperatura,
ou concentrao de qumicos, como
nos processos MCC ( cozi mento
contnuo modificado), EMCC ( cozi-
mento contnuo modificado exten-
dido), ITC (cozimento contnuo isotr-
mico), RDH (aquecimento com rpi-
do desl ocament o) , et c. . . que
fornecem polpas com maior rendi-
ment o e menor nmer o kappa,
seguindo as restries ambientais da
poca. Nestes processos tambm
ocorrem benefcios durabilidade
do papel , como descri to anteri or-
mente. O uso da AQ e os cozimentos
modificados trouxeram benefcios
durabilidade dos papis produzidos
com esta cel ul ose. Nestes erma
produzidos fibras celulsicas menos
degradadas e com maior ndice de
viscosidade.
A polpa de celulose obtida pelo
processo qumico,como os descri-
tos anteriormente, no pode ser uti-
lizada como fibra para produzir papei
com alta durabilidade, deviso sua
instabilidade de alvura. Para que ad-
qui r a est a qual i dade f az- se
necessrio banquea-la.
BRANQUEAMENTO
O branqueamento da pasta qumi-
ca de celulose consiste num proces-
so de purificao, para remover im-
purezas metlicas, resinas e grande
parte da lignina residual. Visando a
produo de polpa celulsica com el-
evado grau e estabilidade da alvura.
O processo deve ser conduzido com
o m ni mo de degradao dos car-
boidratos e consumo de reagentes.
E tambm deve fornecer celulose
para papis com elevadas caracters-
ticas de resistncia fisico-mecnicas.
O primeiro processo de branquea-
mento de expressiva quantidade de
fibras surgiu na Europa em meados
do sculo XVIII, este consistia em ex-
por, as fibras luz solar em presena
de substncias alcalinas, (como, por
exempl o, ci nzas de madei ra) . Na
ausncia de mtodo vivel para o
br anqueament o at o f i m dest e
perodo, o papel branco s podia ser
obt i do de t r apos de cor si mi l ar.
Embora esta prtica evitasse sua de-
teri orao posteri or, pel a ao de
resduos de alvejantes, isto restring-
ia sua produo.
Em 1774 foi descoberto o Cloro
molecular Cl
2
, pelo qumico sueco
Wilhelm Scheele, isto possibilitou,
posteriormente a produo de ps
alvejantes. Ampliando assim a quan-
tidade de matrias primas para fabri-
car papis, incluindo os trapos col-
oridos que at ento tinham sido re-
jeitados a medida que o tempo de
tratamento era reduzido. As atuais
torres de branqueamento evoluram
a partir de grandes tinas de madeira,
para equipamentos que permitiam
melhor mistura da polpa com os re-
agentes.
O branqueamento possibilita a ob-
teno de pastas claras. Inicialmente
seu preo era elevado, devido os al-
tos custos operacionais e dos equi-
pamentos. Um barateamento consid-
ervel foi obtido graas introduo
em 1844 do processo mecnico de
obteno de fibras celulsicas a partir
da madeira, desenvolvido na Aleman-
ha. Entretanto o uso exclusivo deste
produto levou a um material fraco e
frgil de pouca permanncia. Assim
at o desenvolvimento posterior de
misturas balanceadas, o uso da ma-
deira como matria prima no teve
plena aceitao.
O efeito deteriorador exerc-
ido pelos novos branqueadores so-
br e o papel , mot i vou est udos
sistemticos para minimizarem os
eventuais danos causados no mate-
rial. Os processos de produo de
papis, fabricados com fibras de ce-
lulose branqueadas, utilizando vege-
tais foram desenvolvidos a partir do
sculo XIX. Anteriormente as polpas
celulsicas escuras eram considera-
das de qualidade inferior, devido
presena da lignina residual que per-
manece na polpa, aps a deslignifi-
cao. A cor escura restringia seu
uso.
Aps o cozimento a polpa
qumica de celulose ainda possui el-
evado teor de lignina residual, pela
impossibilidade de remov-la com-
pl etamente na pol pao, devi do
reduo no rendimento em polpa ce-
lulsica e nas propriedades fsico-
mecnicas do papel. A impossibil-
idade da retirada integral da lignina
na deslignificao est relacionada
bai xa especi fi ci dade dos radi cai s
gerados pelos produtos qumicos uti-
lizados neste processo, j que eles
at uam na sua r emoo e na
degradao dos carboidratos. Desse
modo a remoo da lignina tem que
ser concluda numa etapa posterior,
ou sej a no branqueamento, cuj os
produtos so mais especfico para
sua remoo.
Nesta tcnica so emprega-
dos produtos qumicos mais seleti-
vos como o Cloro molecular (Cl
2
), o
Dixido de Cloro (ClO
2
), o Oxignio
(O
2
), a gua Oxigenada (H
2
O
2
), etc.
Nas sequncias de branqueamento
estes produtos so representados
por letras C (Cl
2
), D (ClO
2
),. A denom-
inao Kraft-O
2
representa a polpa
Kraft, tratada com oxignio aps co-
zimento. Estes produtos so utiliza-
dos em condies menos drsticas
que a pol pao, r eal i zada sob
condies de temperatura e presso
elevadas. Devido s restries ambi-
entais, atualmente, o Cloro pouco
empregado no branqueamento, por
gerar produtos com caractersticas
mutagnicas e carcinognicas con-
forme menciona MOUTEER, A. N. et
al (1993).
A descoberta do cloro possi-
bilitou a produo de produtos base
de Hipoclorito. Este passou a ser uti-
l i zado i ni ci al mente nas i ndstri as
txteis e posteriormente nas fbricas
de celulose. SINGH (1979) mencio-
na que, o uso do Hi pocl ori to de
Potssio (KClO) nas fbricas de teci-
do como alvejante foi registrado an-
tes de 1789, e o uso de Hipoclorito
de Clcio [Ca(ClO)
2
] na indstria de
papel posterior ao ano de 1800.
O Cloro um produto seleti-
vo deslignificao, no entanto ele
no especfico, pois sua ciso ho-
moltica produz radicais, que so os
pr i nci pai s r esponsvei s pel a
degradao dos carboidratos, no es-
tgio de clorao, os AOX (Compos-
tos Organoclorados - gerados nos es-
tgios de clorao ou de dioxidao),
possuem elevada toxidez, e so mu-
tagni co e carci nogni cos, atual -
mente o uso de cl oro vem sendo
abandonado nas fbricas de celulose,
MOUTEER, A. N. et al 1993.
A extrao alcalina da polpa
pode ser considerada uma parte in-
tegral de uma sequncia de bran-
queamento de mltiplos estgios,
por ela ter o objetivo de remover os
componentes coloridos da polpa par-
cialmente branqueada, que se tor-
nam solveis em solues alcalinas
diludas mornas.
Entre 1910-1930 foi avaliada
a seqncia de branqueamento em
ml ti pl os estgi os, envol vendo a
clorao(C), extrao alcalina(E), e o
Hipoclorito de Clcio, ou de Sdio (H),
originando a seqncia CEH, A pol-
pa obtida pelo processo Sulfito ci-
do facilmente branqueada por esta
metodologia.
Para reduzir a deteriorao da
cel ul ose pel o cl oro mol ecul ar, o
primeiro alvejante utilizado para esta
finalidade foi o Dixido de Cloro ClO
2
(D), descoberto por Humphrey Davy
em 1811, denominado de Euclorine,
porm o crdito da sua descoberta
foi dado a Schimidt e aos descobri-
dores da polpao alcalina Watt e
Boletim Informativo da Associao Brasileira de Conservadores - Restauradores de Bens Culturais
12
Burges, por eles mencionarem na
sua patente o uso de Cloro e do eu-
clorine como agentes branqueadores
de polpa.
Numa seqncia de bran-
queamento o estgio E, geralmente
realizado aps um tratamento ci-
do, ou oxidante para remover os com-
postos coloridos, formados anterior-
mente. Essa metodologia promove
uma limpeza na superfcie da fibra,
de modo a expor novas regies aos
reagentes empregados na etapa
seguinte.
COLODETTE (1994) menciona
que o primeiro uso comercial do Dix-
ido de Cloro (ClO
2
) em fbricas de ce-
lulose ocorreu em 1946. Com isto, a
seqncia CEH foi substituda pelo
mtodo CEDH, que causa menor de-
teriorao nas fibras e conseqente-
mente no papel , devi do mai or
eficincia do ClO
2
em atuar como
protetor da degradao dos car-
boidratos, no incio do tratamento.
A partir da segunda metade
do scul o XX, i ni ci ou-se o desen-
vol vi mento de processos menos
agressivos ao ambiente e celulose.
O processo de polpao ao sulfito,
que restri ngi a a recuperao dos
produtos qu mi cos uti l i zados, foi
substitudo pelo processo Kraft, para
reduzir os impactos ambientais das
fbricas de celulose. As polpas Kraft
eram mais difceis de serem bran-
queadas, com i sso, a seqnci a
CEH, foi gradativamente substituda
pelos mtodos de branqueamentos
com 4 ou mai s est gi os, como
CEDH, CEHHD, CEHEH, CEDED.
Aps 1950 foram encontra-
dos os benefcios do ClO
2
em prote-
ger os carboidratos. O estgio fun-
damental de pr- branqueamento
(CE), foi substi tu do pel o estgi o
(C
D
E), pela adio de pequena quan-
tidade de ClO
2
. Visando a reduo de
uso do cloro e da toxidez do eflu-
ente, at que todo estgio CE, foi
completamente substitudo por um
mtodo no qual o dixido de cloro
passou a ser o produto pri nci pal ,
originando a seqncia longa DED-
ED.
O aumento no uso do Dixido
de Cl oro nas seqnci as de bran-
queament o causou consi der vel
reduo no uso de Hipoclorito, por
este possuir diversas caractersticas
adversas. Este produto necessitava
de um r i gor oso cont r ol e das
condies operacionais, pH, tempo,
temperatura e concentrao; para
atuar principalmente como clarea-
dor sem degr adar a cel ul ose e
produzi r papi s com bai xas pro-
priedades fisico-mecnicas.
Visando uma maior alvura da
polpa a seqncia consagrada no fi-
nal da dcada de 50, foi a CEDED,
por f or necer pol pas kr af t com
mai ores ndi ces de al vura. As re-
stries ambientais a partir da dca-
da de 70, obrigaram as fbricas de
celulose a se transformarem em in-
dstrias mais limpas, reduzindo a
toxidez, de seus efluentes. A metod-
ol ogi a encontrada para reduzi r a
emisso de produtos txicos foi ex-
tender a deslignificao, para auxil-
iar na remoo de lignina residual,
com baixa, ou nenhuma degradao
dos carboidratos. Dos mtodos de-
senvol vi dos os mai s i mportantes
foram a deslignifio com Oxignio,
antes do inicio da clorao (pr-O
2
)
e a extrao alcalina reforada (E
O
,
E
P
ou E
H
)
.
Por possibilitarem maior
limpeza da polpa e atuar na remoo
das substncias colidas, estas pro-
movem significativa reduo na car-
ga txica do efluente das fbricas.
Com isso a sequncia consagrada
entre as dcadas de 50-60, transfor-
mou- se nos mtodos OCE
O
DED,
OCE
P
DED ou OCE
H
DED.
Na deslignificao com Ox-
ignio, tambm denominada de pr-
O
2
, o cozi mento estendi do com
um produto mais seletivo remoo
da lignina. Nesta etapa consegue-se
remover cerca de 50 % da lignina
r esi dual . I st o possi bi l i t a uma
reduo do nmero kappa da polpa
e o consumo de qumicos no bran-
queamento. A pr-O
2
pode ser sub-
stituda por mtodo enzimtico com
fungos l i gnol ti cos, que tambm
podem desenvolver microrganismos
celulolticos, que degradam os CH
e reduzem as propriedades fisico-
mecnicas dos papis.
A desl i gni fi o com Ox-
ignio possui alguns aspectos neg-
ativos, pois durante o processo so
geradas espci es radi cal ares, ex-
tremamente reati vas que podem
degradar os carboidratos, e conse-
qentemente reduzir a viscosidade
da pol pa. Neste caso no ocorre
reduo nas propri edades de re-
sistncia mecnicas da polpa, pois
a ciso das molculas de carboidra-
tos mais ou menos homognea.
Alm disto o Oxignio oxida o gru-
po terminal redutor da celulose, blo-
queando as reao de desgragdao
dos CH.
O aumento das presses ambien-
tais levaram as fbricas de celulose
a branquearem polpas kraft-O
2
, em
seqncias curtar de trs estgios,
como a DE
P
D, DE
O
D, DE
P
H, etc... Es-
tas seqncias de branqueamento
sem cloro elementar (Cl
2
), foram de-
nominadas de seqncias ECF (ele-
mentar chloro free).
A substituio do ClO
2
no
primeiro estgio, pelo Oznio (O
3
)
( Z) , per ci dos( A) , ou out r os oxi -
dantes enrgicos deslignificao,
trouxe uma modificao no proces-
so ECF, que passou a ser denomina-
do de processo TCF ( Total chl oro
free), que contribui para o fechamen-
to do circuito hdrico das fbrica,
devido possibilidade completa de
recuperao dos efl uentes deste
processo. Porm estes qumicos, Z
e A col aboram ai nda mai s para a
degradao da cel ul ose durante o
branqueamento, devi da sua bai xa
especificidade em degradar apenas
a lignina. Isso poder originar papis
com menores propriedades de re-
sistncia e durabilidade. Atualmente
a maioria das polpas branqueadas
com compostos clorados destina-se
apenas produo de papel fotogr-
fico, que no devem possuir resdu-
os de compostos oxigenados.
A polpa celulsica branqueada
a matria prima para a produo de
papis com qualidade arquivstica..
PAPEL
A principal matria prima para fab-
ricao de papel so as fibras ce-
lulsicas. Nestas os principais con-
stituintes so os carboidratos (Celu-
lose + hemicelulose). Para o fabrico
de papis as hemicelulose so im-
portantes para o refino, por facilitar-
em o intumescimento das fibras e
aumentarem as propri edades dos
papis. Para preservao estas so
constituintes indesejveis, devido
sua menor durabilidade.
No final do sculo XI, o moin-
ho de mar t el o hi dr ul i co f oi o
pri mei ro equi pamento constru do
para a macerao e o refino de fi-
bras. Com a inveno da imprensa
por Gutemberg em 1450, havia uma
necessidade mundial de aumentar
a produo de papel para que o
Homem pudesse registrar sua arte,
idias e pensamentos. Os precur-
sores da Revol uo I ndustri al do
sculo XVIII, e o avano da qumica
auxiliaram na mecanizao da fabri-
cao do papel e no desenvolvimen-
to dos processos de polpao.
At meados do sculo XVI
ocorreram poucas mudanas nos
processos de fabricao do papel.
Em 1640 foi inventada, pelos holan-
deses a mquina refinadora Holan-
desa, que necessi t ava de mui t o
menos energi a hi drul i ca, que os
moi nhos de martel o. DALMEIDA
(1988), menciona que, inicialmente
Ano VX n I - Setembro de 2004
13
este equipamento foi inventado para
desintegrar papis. Posteriormente,
ele substituiu os moinhos de mar-
telo que macerava e o desfibrava os
trapo de tecidos. A refinadora Holan-
desa foi o primeiro equipamento de
produo de papel que introduziu o
aumento na sua degradao. Pois,
dependendo da posio de suas fa-
cas, ela pode cortar as fibras, reduz-
i ndo al gumas propri edades de re-
sistncia mecnica.
Em 1850, Joseph, Jordan e
Thomas Eustico patentearam os re-
finadores cnicos, chamados assim
pel a sua for ma. Em 1856 T.
Ki ngsl and i nventou o refi nador de
disco, atualmente este equipamen-
to ainda muito utilizado pela inds-
tria de papel. O uso dos refinadores
ampliou o corte das fibras, e com
isso a degradao do papel. At o
sculo XVIII as folhas de papel eram
feitas manualmente, em 1799 foi in-
ventado o formador contnuo de pa-
pel pelo francs Louis Nicolas Rob-
er t , est e equi pament o f oi aper -
fei oado pel os i rmos Fourdri ni er
em 1804. Com a evoluo da tecno-
logia surgiram outros tipos de for-
madores, cujo funcionamento base-
ia-se na mesa plana. Em 1889 a ve-
l oci dade da mqui na de papel ex-
cede 80 m/min, atualmente existem
formadores com at 10 metro de lar-
gura e j se atingiu uma velocidade
de 1200 m/min.
A principal influncia positiva
da refinadora Holandesa, dos refina-
dores cnicos e de disco e dos for-
madores contnuos no processo de
fabricao de papel, foi o incremen-
to na sua produo, porm a matria
prima utilizada ainda eram os trapos
de tecido e isto limitava sua fabri-
cao. Mas o uso destes equi pa-
mentos possibilitou a disseminao
da informao. Na preservao os
pr i nci pai s aspect os negat i vos
destes equipamentos esto relacio-
nados pr esena de r es duos
metlicos no papel. WILLIAMS et al
(1977) menci onam que o Ferro, o
Mangans, e o Cobalto so os prin-
cipais metais responsveis pela sua
degradao oxidativa.
A ltima grande modificao
ocorrida na fabricao do papel, no
sculo XVIII, foi a modificao do
si stema de col agem i nterna. Em
1806 foi inventado pelo qumico ale-
mo Morriz Illig a colagem cida com
resina de breu - almen, esta foi o
principal fator que contribui para o
aumento na produo de papel, por
possibilitar sua fabricao em forma-
dor contnuo. A colagem cida tam-
bm incrementou sua deteriorao.
Na l i teratura a aci dez apontada
como a pr i nci pal causa da sua
degradao. BARROW (1959) men-
ciona que em 1937 a Techical As-
sociation of the Pulp and Paper In-
dutry-TAPPI associao americana
de celulose e papel, apontou a aci-
dez do papel moderno, como sua
principal causa de degradao.
Em meados de 1950 este
problema foi solucionado com o de-
senvol vi ment o de adesi vos que
possi bi l i tavam a col agem i nterna,
em ambiente alcalino, com carga de
Carbonato de Clcio (CaCO
3
), isto
retornando a fabricao de papis
com colagem alcalina, como ele era
produzido at meados do sculo XIII.
Posteri ormente descobri u-se que
este sistema de colagem possibili-
tava reduo dos custos industri-
ai s de pr oduo. Por quest es
econmi cas e ambi ent ai s est a
metodologia estendeu-se por todo
pl aneta contri bui ndo para que os
fabricantes de papis voltassem a
produzir papis com colagem alcali-
na. O uso do CaCO
3
como carga min-
eral possibilita a formao de folhas
com igual quantidade de celulose e
de CaCO
3
. Para a preservao e a
durabilidade do papel, este retorno
foi benfico, por impedir a hidrlise
cida da celulose e a quebra das
ligaes glucosdicas, principais re-
sponsvei s pel a despol i meri zao
da celulose e rompimento dos pa-
pis.
A colagem alcalina por ser
uma interao qumica, pode no
fixar algumas tintas com a mesma
i nt ensi dade da col agem ci da.
ROLHING (1999) menciona que pa-
pis impressos em impressoras tipo
j at o de t i nt a com t i nt as hi dr os-
solveis no suportam os tratamen-
tos aquosos de desacidificao, en-
quanto os impressos em impresso-
ra ti po Laser possuem mai or re-
sistncia a estes tratamentos. Como
cuidaremos da restaurao de doc-
umentos modernos?
CONCLUSO
O trabalho mostrou as transfor-
maes ocorridas na fabricao do
papel. A partir dele podemos con-
cl ui r que aps o scul o XVI I o
Homem iniciou o estudo de novas
matrias-primas para a produo de
papel. O resultado deste mostrou
que da madeira obtinha-se fibras su-
ficientes para substituir os trapos de
tecido na fabricao do papel. Para
produo de papel com fibras veg-
etais, aps a polpao estas devem
ser br anqueadas, devi do a col -
orao escura da celulose aps a
desl i gni fi cao. Os processos de
polpao e branqueamento reduzem
a durabilidade das fibras.
Neste mesmo perodo ocorreu a
mudana no sistema de colagem de
alcalina para cida. Esta foi a princi-
pal modificao que impulsionou a
mecanizao do processo de fabri-
cao e favoreceu a degradao do
papel moderno. Para sol uci onar
este problema em meados do scu-
lo XX foram desenvolvidos adesivos
compatveis com o uso do Carbonato
de Clcio como carga, possibilitando
o retorno a fabricao com colagem
alcalina. O papel moderno ainda
produzido com a mesma matria pri-
ma utilizada na sua descoberta, isto
com fibras celulsica. No decorrer de
seu desenvol vi mento ocorreram
mudanas nos equipamentos e nas
tcnicas utilizados para sua produo.
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
BARROW, W. J. ; SPROULL, R. C.
Permanence in book paper. Science,
v.129 n.3356,
p.1075 -1084. April, 1959.
CLAYTON, D. et al. chemistry alka-
line of pulping. GRACE et al. PULP
AND PAPER MANUFACTURE.
3ed.Tappi Press: Atlanta 1986, v.5 p.1-
14
DALMEIDA, M.L.O. (Coord.). Celu-
lose e papel: tecnologia de fabricao
do papel. 2.ed. So Paulo: SENAI/IPT,
1988.v.1 e v.2 964 p.
DALMEIDA, M.L.O. O papel e suas
matri as pri mas, I n: Associ ao
Brasileira de Encadernao e restau-
ro. So Paulo [ apostila]. 26 p. 2000.
MOUTEER, A. N. et al 1993 Alter-
nativas para branqueamento sem clo-
ro mol ecul ar. O Papel . 53( 4) 25-
35p.1992.
SINGH, R P. (ed). The bleaching of
pulp. Florida tappi. 694p. 1979.
SMOOK. G. A Handbook for pulp &
paper technogists. Atlanta tappi. 395
p. 1987.
WILLIAMS, J. C. et al. Metallic cat-
alysts in the oxidattive degradation of
paper. In: WILLIAMS, J. C (ed.) Pres-
ervation of paper and textiles of his-
toric and artistic value. Washing-
ton:1977. American Chemical Society.
p. 37- 61.
ROHLING, V. G. Resistncia e Du-
rabilidade Das Tintas Moderna de
Impresso aos processos de Restau-
rao, Curitiba, PR: UFPR, 1999. 71
p.
A Histria do Fabrico do Papel na Eu-
ropa, extraida do site http://www.celpa.pt/
?id=5&article=30&visual=17&layout=3>
em 10/07/2004.
Boletim Informativo da Associao Brasileira de Conservadores - Restauradores de Bens Culturais
14
Publicaes Recebidas
THE Postprints of Iron Gall ink Meeting:
First Triennial Conservation Conference.
Published by Conservation of Fines Art.
Edited by Miss A. Jean E. Brown. The
University of Northumbria at Newscastle
2001.
THE Safeguard of the Rock-Hewn Churches
of the Greme Vallery: Proceedings of an
International Seminar Urgup, Cappadocia,
Turkey 5-7 September, 1993. ICCROM
International centre for the Study of the
Preservation and Restoration of Cultural
Property, Rome, 1995.
ICCROM, Presse et Sauvegarde du
Patrimoine. Centre International D Etudes
pour La Conservation et la Restauration des
Biens Culturales: Recueil d articles de presse
abordant l e thme de l a fragi l i t du
patrimoine et de as conservation. Edited by
Ghislaine Pardo. ICCROM, Rome, 2000.
THE Safeguarde of the Ni l e Val l ey
Monuments, as seen Through (CD-Rom) .
ICCROMs Archives, 1996.
LAVAS and Volcanic Tuffs: Proceedings of
International Meeting Easter Island, Chile,
25-31 October, 1990. Senior Editor: A. Elena
Charola; Co-editor: Robert J. Koestier / Gianni
Lombardi. ICCROM International Centre
for the Study of the Preservati on and
Restoration of Cultural Property. Rome,
1994.
JEUNES et Sauvegarde du Patrimoine:
Cahier de sensibilisation des jeunes la
fragilit et la conservation du patrimoine.
Edited by Alice Blond. ICCROM Centre D
Etudes pour l a Conservati on et l a
Restauration des Biens Culturales, Rome,
2000.
UNIVERSITY Postraduate Curricula for
Conservation Scientists: Proceedings of the
International Seminar, Bologna, Italy, 26-27
November, 1999. ICCROM International
Centre for the Study of the Preservation
and Restoration of Cultural Property. Rome,
2000.
FEILDEN, Bernard M. and JOKILEHTO,
Jukka. Guide de Gestion des Sites du
Patrimoine Culturel Mondial. Traduit de l
angl ai s par Franoi se Vogel avec l e
concous de Jean-Michel Dubois. ICCROM,
1996.
FEILDEN, Bernard M and JOKILEHTO,
Jukka. Management Guidelines for World
Cul tural Heri tage Si tes. I CCROM
International Centre for the Study of the
Preservation and Restoration of Cultural
Property. Second Edition, Rome, 1998.
STOVEL, Herb. Risk Preparadness: A
Management Manual for World Cultural
Heritage. ICCROM International Centre
for the Study of the Preservati on and
Restoration of Cultural Property, Rome,
1998.
WESTERN Medi eval Wal l Pai nti ngs:
Studi es and Conservati on Experi ence.
Sighisoara, Romania 31 August-3 September
1995. ICCROM International Centre for the
Study of the Preservation and Restoration
of Cultural Property. Rome, 1997.
GRADOC Graphi c Documentati on
Systems in Mural Painting Conservation:
Research Seminar Rome 16-20 November
1999. Edited by Werner Schmid. ICCROM,
Rome 2000.
CONSERVATION and Management of
Archaeol ogi cal Si tes: Speci al Issue on
Protective Shelters. Journal devoted to the
publication of original research and review
papers on any aspect of the preservation
and presentation of archaelogical sites.
ICROM in Association with James &
James (Science Publishers) Ltd, volume 5,
Numbers 1 & 2, 2001.
ICCROM Chronique. Centre International
DEtudes pour l a Conservati on et l a
Restauration des Biens Culturels, vol. 28,
september 2002.
WORKS of Art on Paper Books, Documents
and Photographs: Techni ques and
Conservation. Contributions to the Baltimore
Congress 2-6 September 2002. Edited by
Vincent Daniels, Alan Donnithorne and Perry
Smi th. Publ i shed by The Internati onal
Institute for Conservation of Historic and
Artistic Works (IIC). London, 2002
CONSERVATION of the Iberian and Latin
American Cultural Heritage: Preprints of the
Contributions to the Madrid Congress, 9-12
September 1992.Edited by H.W.M. Hodges,
John S. Mills and Perry Smith. Published by
The International Institute for Conservation
of Historic and Artistic Works (IIC). London,
1992.
REVIEWS i n Conser vati on. The
International Institute for Conservation of
Historic and Artistic Works, Number 2, 2001.
Edited by Sally Woodcock.
BROOKS, Boothroyd Hero. A Short
Hi stori c of IIC Foundati on and
Development. The International Institute for
Conservation of Historic and Artistic Works,
London, 2000.
GOREN, Silvio M. Cuaderno Tecnico No.
2: Auxilios Previos para la Preservacin de
una Col ecci n: Herrami entas para
i mpl ementaci n de l a Conservaci n
Preventiva.
REVISTA de Conservacin del Papel de la
Biblioteca del Congreso de la Nacin, nmero
3, Argentina, 2001.
MELO, Leandro Lopes Perei ra de,
MOLINARI, Lilian Padilha. Higienizao de
Documentos com Suporte em Papel :
Fundao Patrimnio Histrico da Energia
de So Paul o Programa de
Doocumentao Arquivstica, 2002.
BOGA, Ktia Santos. Olhos da Alma.
Escola Maranhense de ImaginriaKtia
Santos Boga / Emanuela Sousa Ribeiro /
Stella Regina Soares de Brito, fotografia de
Edgar Rocha So Luiz, 2002.
REVISTA Arqueolgica Sian - Ao 8 /
Ediciciones Sian, No. 12 / Abril 2002.
Ediciones Sian, Trujillo Per.
PUBLICAO sobre o Curso de Mveis e
Douramento. A experincia do IEPHA/MG,
Fondazione Palazzo Spinelli, Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale d Itlia,
2001/02.
REVISTA APCR. Revista da Associao
Paulista de Conservadores e Restauradores
de Bens Culturais. So Paulo, v.1, n.1, 2002.
30p.
VITAE. Apoi o Cul tura, Educao e
Promoo Social. Relatrio 2002, So Paulo,
SP.
CPC. Boletim da Comisso de Patrimnio
Cultural da Universidade de So Paulo/USP.
So Paulo, Dezembro 2002, v.08, n. 12,
CPC. Boletim da Comisso de Patrimnio
Cultural da Universidade de So Paulo/USP.
So Paulo, Janeiro 2002, v. 09, n.01.
PATRIMONIO Y DESARROLO. Boletn n.
5, 2001. Publicacin trimestral do CECREN -
Centro Naci onal de Conservaci n,
Restauraci n y Museol og a; Consej j o
Nacional de Patrimonio Cultural/Ministerio de
Cultura Cuba.
CEIB. Boletim do CEIB Centro de Estudos
da Imaginria Brasileira. Belo Horizonte,
volume 6, Nmero 23, Novembro 2002.
AAAA/SC. Boletim Informativo do Arquivo
Pblico de Santa Catarina/Associao de
Amigos, No. 40 e 41, Ano XI, Florianpolis,
Julho/Dezembro 2002.
LIVRARIA PORTUGAL. Boletim Interno da
Livraria Portugal, Ano I, No. 4, So Paulo,
Outubro/Novembro, 2002.
FAAP Cultura. Informativo bimestral da
Fundao Armando l vares Penteado.
Edio 01, Ago./Set. 2002.
FAAP Cultura. Informativo bimestral da
Fundao Armando l vares Penteado.
Edio 02, Out./Nov. 2002.
FAAP Cultura. Informativo bimestral da
Fundao Armando l vares Penteado.
Edio 03, Dez.2002 / Jan. 2003.
JORNAL DO MUSEU. Jornal do Museu
Histrico e Pedaggico Dr. Washington
Luis. Batatais, janeiro de 2003, Ano 02
Nmero 07.
Boletn Fundacin MAPFRE Tavera, No. 22,
Junho 2004.
Revista Da Cultura, Ano III No. 5
Dezembro de 2003
Revista do Centro Cultural Justia Federal
Atrium, N0. 4 Setembro de 2003
Informativo Bimestral da Fundao Armando
lvares Penteado - FAAP Cultural Ed. 11
abril/maio 2004.
Informativo do MAST Arquivo Vivo Ano
II 1
Semestre 2004.
Bol eti m CPC Informa Centro de
Preservao Cultural/USP, Julho 2004, v. 10,
no. 7
Boletim do CEIB Centro de Estudos da
Imaginria Brasileira Belo Horizonte,
volume 8, Nmero 28, julho 2004.
ARCHIVESE Organo Difusor Archivo
Nacional, San Jos da Costa Rica, no. 80,
Ao 20, junio 2004.
DUVIVIER, Edna May. Como Preservar
Pinturas, Papis, Livros
CONSERVA Revista del Centro Nacional
de Conservacin y Restauracin DIBAM
No. 6/Santiago de Chile, 2002.
CONSERVA Revista del Centro Nacional
de Conservacin y Restauracin -DIBAM
No. 7 / Santiago de Chile 2003.
Bulletin Technique No. 10 Institut Canadien
de Conservation (ICC) / Muses Nationaux
au Canada.
VOLFOUSKY, Claude. La Conservation des
Mtaux.
BRAGA, Mrcia. (org.)
Conservao e Restauro: Madei ra
Pintura sobre Madeira Douramento
Estuque Cermica Azulejo Mosico.
Editora Rio, Rio de Janeiro, setembro 2003.
Conser vao e Restauro: Pedra
Pintura Pintura em Tela. Editora Rio, Rio de
Janeiro, Maro de 2003.
Conservao e Restauro: Arquitetura
Brasileira. Editora Rio, Rio de Janeiro,
novembro de 2003.
Ano VX n I - Setembro de 2004
15
Cursos e Encontros
CURSO SOBRE TXTEIS
A Escola Superior de Desenho da
Catalunha e o Centro de Documen-
tao e Museu Txtil esto organi-
zando os seguintes cursos sobre con-
servao e restaurao txtil: Histria
dos tecidos - evoluo atravs das
culturas; Reconhecimento de txteis
contemporneos e vocabulrio; Doc-
umentao de tecidos; Conservao,
armazenagem e transporte; Anlise
tcnica do tecidos histricos. Infor-
maes: i nfo@esdi .es
www.esdi.es
Fonte: Boletim Eletrnico n. 7.22/
07/04, Departamento de Museus e
Centros Cul turai s do IPHAN
demu@iphan.gov.br
ARCHITECTURAL RECORDS, IN-
VENTORIES AND INFORMATION
SYSTEM FOR CONSERVATION -
ARISO5
Categoria: Ps-Graduao, nvel
avanado
Institutos Responsveis; Interna-
tional Centre for the Preservation and
Conservation of Cultural Property -
ICCROM / The Getty Conservation In-
stitute
Local: Roma, Itlia
Prazo mximo para Inscries: 01
de outubro de 2004. Idiomas: Ingls
Perodo: 30 de maro a 29 de abril
de 2005; Vagas: 16
Informaes: ARISO5 - Architec-
ture end Aechaelogical. Sites Unit -
ICCROM - Via di San Michele, 13 - I
00153 Toma, RM
Tel: (39) (06) 585531 - e-mail:
archi tecture@i ccrom.org - si te:
www. i ccr om. or g/ eng/ t r ai ni ng/
forms.htm
Fonte: Boletim CPC Informa, Ag-
osto 2004, v.10, n. 8 - e-mai l :
uspcpc@usp.br
INTERNATIONAL CONFERENCE
ON OXOLATE FILMS ON ROCKS
AND WORKS OF ART (CHAMADA
PARA TRABALHOS)
Instituto Responsvel
Department of Archaeology & Nat-
ural hotory/The Australian National
University
Local: Carims, Austrlia
Perodo: 29 a 30 de agosto de 2005.
Informaes: Dr. Alan Watchman
- e-mail: alan.watchman@anu.edu.au
- www.car.anu.edu.au/oxalates
Fonte: Boletim CPC Informa, Ag-
osto 2004, v.10, n.8 -e-ami l :
uspcpc@usp.br
CONGRESSO NACIONAL DE AR-
QUIVOLOGIA I (CHAMADA PARA
TRABALHOS)
Tema: Os arquivos no sculo 21:
polticas e prticas de acesso in-
formao.
Institutos Responsveis
Associao Brasiliense de Arquiv-
ologia - ABARQ/ Universidade de
Braslia - UNB/ Dep. De Cincia da
Informao e Documentao, Curso
de Arquivologia
Local: Braslia, DF
Prazo mx. p/envio de
Trabalhos: 30 de setembro de 2004.
Perodo: 23 a 26 de novembro de
2004.
Informaes: UnB, Curso de Ar-
quivologia, Prof. Dra. Miriam Paula
Manini - Tel: (61) 397 2422 - e-mail:
mpmani ni @unb.br -
www.abarq.org.br
Fonte: Boletim CPC Informa, Ag-
osto 2004, v.10, n. 8 - e-mai l :
usppcp@usp.br
CONFERNCIA INTERNACIO-
NAL SOBRE "DUBLIN CORE" E
METADADOS.
de 11 a 14 de outubro de 2004, na
Biblioteca de Shanghai, China. infor-
maes no si te http://
dc2004.library.sh.cn/ , e inscries
em: http://dc2004.library.sh.cn/rege-
dit/submit1.asp. Esta ser a quarta
conferncia de uma srie, que j
aconteceu em Tokio, Florena e Se-
attle e pretende examinar um vasto
leque de aplicaes de metadados,
especialmente com foco na melhora
da interoperabilidade entre as frontei-
ras da linguagem e da cultura, por
exemplo. O programa da confern-
cia pode ser consultado em: http://
dc2004.library.sh.cn/english/prog/.
CURSO DE EXTENSO: CON-
SERVAO DE DOCUMENTOS ES-
PECIAIS, COM 10 horas de durao.
Dias 02, 09 e 16 de outubro de 2004,
- sbados pela manh - das 8:00 s
12:00 no Multimeios da Biblioteca
Central da UnB. Certificado pela UnB.
Mai ores i nformaes no si te:
www.unb.br/dex/exe/cursos, pelo
telefone (061) 347-1400, ou com a
prof.a Dra. Miriam Manini, coordena-
dora e instrutora do curso, no en-
dereo mpmanini@uol.com.br.
CONGRESSO CHILENO DE CON-
SERVACIN Y RESTAURACIN),
dedicados a estudantes e profission-
ais que realizem trabalhos relaciona-
dos com a preservao do pat-
rimnio. Data: de 27 a 29 de outubro
de 2004. O Congresso constar de
conferncias e mesas redondas, pal-
estras, posters e feira de servios.
Nas conferncias e mesas re-
dondas ser analisado o papel do
conservador-restaurador na vincu-
lao do patrimnio cultural com a
comunidade, sendo proposta uma
reflexo sobre o "como conservar",
tendo em vista o "para quem con-
servar". As 3 plenrias programa-
das abordaro os seguintes temas:
tica e Perfil Profissional, Novas
Ferramentas em Conservao e
Restaurao e OrganizaoProfis-
sional.
As palestras constaro de mesas
temti cas, organi zadas pel as
seguintes tipologias patrimoniais:
Patri mni o Art sti co, Patri mni o
Histrico, Patrimnio Arqueolgico,
patrimnio Etnogrfico e de Tradies
Populares, Patrimnio Religioso e
Patrimnio Natural.
Mai ores i nformaes
em:www.cnct. clcongresoconserva-
cion.
IV COLQUIO IBEROAMERI-
CANO: DEL PAPIRO A LA BIBLIO-
TECA VIRTUAL.
Data: de 21 a 25 de mao de 2005,
em Havana, Cuba.
O evento pretende contribuir para
a integrao dos processos arquivs-
ticos nos diferentes contextos dos
arquivos da Amrica Latina e Caribe,
e para a conservao, acesso e di-
fuso do patrimnio documental de
nossas naes.
Prazo de entrega dos trabalhos: 15
de fevereiro de 2005.
Mai ores i nformaes, em:
bibliobd@casa.cult.cu , ou pelos tele-
fones: 552706 / 8326380
"CONSERVACIN, INVESTI-
GACIN Y DIFUSIN DE COLEC-
CIONES ARQUEOLGICAS"
Seminrio a ser realizado no III
CONGRESSO DE ARQUEOLOGIA,
na Colombia (Popayn - Cauca): 8,
9,10 de dezembro, 2004.
O Museu Universitario e o Depar-
tamento de Antropologa da Univer-
sidade
de Antioquia abrem inscries para
apresentao de trabalhos "que per-
mitan poner en comn sus experien-
cias relativas a la reglamentacin, a
los lineamientos museogrficos, y a
las dificultades y aciertos obtenidos
en dinmica concreta de construccin
de procesos de conservacin, inves-
tigacin y difusin del patrimonio ar-
queolgico de la nacin".
Enviar ttulo da palestra, nome do
autor (es) e resumo at o dia 14 de
outubro de 2004, utilizando formato
difital por correio eletrnico ou fax.
Mai ores i nformaes, di ri gi r-se
a : c o l e c c i o n e s d e r e f e r e n c i a
@udea.edu.co
Boletim Informativo da Associao Brasileira de Conservadores - Restauradores de Bens Culturais
16
AR AR AR AR ART C T C T C T C T CARE INTERN ARE INTERN ARE INTERN ARE INTERN ARE INTERNA AA AATION TION TION TION TIONAL, Inc. AL, Inc. AL, Inc. AL, Inc. AL, Inc.
DIVISO D DIVISO D DIVISO D DIVISO D DIVISO DA ULISSES MELL A ULISSES MELL A ULISSES MELL A ULISSES MELL A ULISSES MELLO RES O RES O RES O RES O REST TT TTA AA AAURAES LTD URAES LTD URAES LTD URAES LTD URAES LTDA AA AA. .. ..
SISTEMAS ANXIOS PARA ERRADICAO DE PESTES EM ACERVOS, COLEES E OBRAS DE ARTE. APLICAVEL EM BENS
CONFECIONADOS EM PAPEL, MADEIRA, TECIDOS, ETC.
SEGURO, ATXICO, NO INFLAMVEL, SEM EFEITOS COLATERAIS AO BEM TRATADO OU MEIO AMBIENTE.
MOLDA-SE AO TAMANHO E FORMA NECESSRIO.
TRATAMENTO REALIZADO IN SITU OU EM NOSSAS INSTALAES.
SISTEMA CONSOLIDADO COM 14 ANOS DE EXPERIENCIA.
EFICACIA COMPROVADA CIENTIFICAMENTE.
Telefones: (55) (21) 2558-7749, 9243-8446
E-mails:artcarebrasil@hotmail.com , ulissesmello@terra.com.br | Site: www.ulissesmello.hpg.com.br
UNITED STATES - BRAZIL - SLOVENIA
Boletim da ABRACOR
Trimestral - Setembro / Outubro / Novembro de 2004 - 1.500 mil exemplares
Sede: Rua So Jos, n. 50/9 andar - sala n. 5. Centro - Rio de Janeiro/RJ
Caixa Postal 6557 CEP.: 20030-970 Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Telefax : (21) 2262-2591
IMPRESSO
Adilson Moreira Fontenele
Alice Prati
Ananda Porto de Almeida
Andra Moreira de Carvalho
Antnio Edson Arajo Batista
Carlos Henrique Bemfica e Silva
Carlos Rogrio Lessa
Elaine Ferreira Chagas
Fernanda Perroni Cascardo
Ivan Rgo Arago
Jacilene Alves Brejo
Leonardo Branco
Lucia Beatriz Portas Gonalves
Vilaseca
Ludmila Vargas Almeida
Maria Ins de Lima Martins
Torres
Novos Associados
1. NOVO PERIDICO SOBRE A
CINCIA DA CONSERVAO E
PRESERVAO: A publicao, que ser
conhecida como e-PS, trar matrias
referentes a pesquisas, mas tambm
resenhas e pequenas comunicaes,
alm de anncios. Seu objetivo o de
disseminar informao a pesquisadores,
conservadores, profi ssi onai s da
preservao e demais interessados, que
podero consultar desde j o site http://
e-preservationscience.org. , onde tero
acesso, em pdf, aos artigos que constam
do primeiro nmero.
2. Quem no pode ir ao Congreso
Mundial de Bibliotecas e Informacin:
70a. Congreso General y Consejo de
la IFLA em Buenos Aires, mas tem
interesse no mundo das bibliotecas,
poder ter acesso a textos e informaes
em: www.documentalistas.com/web/
ifla2004.
ltimas Notcias
Maria Solange de Brito Silva
Meira
Martha Helena da Luz Rivero
Mauricio Maiolo Lopes
Paulo Amar Vallegas Pereira
Regina Clia Sab
Renato Grosso Molinaro
Rosa Maria de Campos Lopes
Sociedade de Ensino Superior
Estcio de S
Symone Duarte Pereira da Costa
Tatiana Haddad Telles Ferreira
Valdyr Victal Daldon
Weimar Laurence Robertson de
Jesus
Znia Maria Cavalheiro de
Carvalho
Você também pode gostar
- Laudo Técnico Cmar PpciDocumento12 páginasLaudo Técnico Cmar Ppciestevao_moraes100% (2)
- Urbino Vianna - Banderias e Sertanistas Bahianos PDFDocumento209 páginasUrbino Vianna - Banderias e Sertanistas Bahianos PDFBernardo ArribadaAinda não há avaliações
- Traducao Do Livro How To Brew John PalmerDocumento437 páginasTraducao Do Livro How To Brew John PalmerRoberto JuniorAinda não há avaliações
- Relatório Festival UFRJ Mar - 2007/2008Documento14 páginasRelatório Festival UFRJ Mar - 2007/2008Gi Maia100% (3)
- 11silusba VIICPGZC Programa FinalDocumento44 páginas11silusba VIICPGZC Programa FinalGerson Scolfield David100% (1)
- Cópia de Curva - Consumo - Bloco - PaversDocumento4 páginasCópia de Curva - Consumo - Bloco - Paversprimo66Ainda não há avaliações
- LISTA MedicamentosDocumento2 páginasLISTA MedicamentosLeituraFacil100% (1)
- Soluções - Concentração Molar - 114 QuestõesDocumento46 páginasSoluções - Concentração Molar - 114 QuestõesProfAlexandreOliveiraII100% (5)
- Bol Set Out Nov 01Documento16 páginasBol Set Out Nov 01Teresa E. CalgamAinda não há avaliações
- Informativo SOBENADocumento3 páginasInformativo SOBENAAlexandre SperandeoAinda não há avaliações
- MP - Fernanda Landin - Trabalho FinalDocumento122 páginasMP - Fernanda Landin - Trabalho Finalluan.lessa.silvaAinda não há avaliações
- A Importância de Convênios Interinstitucionais para A PDFDocumento56 páginasA Importância de Convênios Interinstitucionais para A PDFLarissa VictoriaAinda não há avaliações
- ADocumento4 páginasAclaudioccdAinda não há avaliações
- Anais Congresso Abracor 2009Documento396 páginasAnais Congresso Abracor 2009MariaAinda não há avaliações
- Regulamento Labmusica Porto Vila CaririDocumento14 páginasRegulamento Labmusica Porto Vila CaririPatrícia LílianAinda não há avaliações
- Edital - ComunicaçõesDocumento4 páginasEdital - ComunicaçõesLucasAinda não há avaliações
- Boletim Docomomo FEV/2024Documento25 páginasBoletim Docomomo FEV/2024ana c. buimAinda não há avaliações
- Labs-23 Regulamento ARTESVISUAISDocumento15 páginasLabs-23 Regulamento ARTESVISUAISHector IsaiasAinda não há avaliações
- DOC-20231126-WA0137 Assinado Assinado Assinado As 231126 223457 AssinadoDocumento20 páginasDOC-20231126-WA0137 Assinado Assinado Assinado As 231126 223457 AssinadovitoriaregiatstAinda não há avaliações
- Modelo Ata CompletoDocumento2 páginasModelo Ata CompletoAnonymous 9CqB1N6nJ0Ainda não há avaliações
- Edital Circulou Regulamento PTDocumento14 páginasEdital Circulou Regulamento PTVênus VitorinoAinda não há avaliações
- Projeto LIC 2024 at 021223Documento39 páginasProjeto LIC 2024 at 021223TAIUR AGNOLETTO FONTANAAinda não há avaliações
- 14cbge Programa PDFDocumento149 páginas14cbge Programa PDFNeymara Silva CostaAinda não há avaliações
- 2008 - 04 - 26 - IEAPM - Bono285eDocumento2 páginas2008 - 04 - 26 - IEAPM - Bono285eLeonard OliveiraAinda não há avaliações
- Edital Divulgacao Cultural Bibliotecas FinalDocumento4 páginasEdital Divulgacao Cultural Bibliotecas FinalTiago SilvaAinda não há avaliações
- Eng - Pesca - Iniciação À Engenharia de Pesca - Aula - Áreas de Atuação - Aula 2Documento30 páginasEng - Pesca - Iniciação À Engenharia de Pesca - Aula - Áreas de Atuação - Aula 2TallesAinda não há avaliações
- Jornal Do Biologo N 49Documento11 páginasJornal Do Biologo N 49Michael CoxAinda não há avaliações
- Prova 2006 2º Sem PDFDocumento24 páginasProva 2006 2º Sem PDFMaria A AparecidaAinda não há avaliações
- Ato Convocatório 008-2023 Under2Documento19 páginasAto Convocatório 008-2023 Under2Andressa NascimentoAinda não há avaliações
- Disserta o Karine Outubro 2017 PDFDocumento249 páginasDisserta o Karine Outubro 2017 PDFJorgeFigueirdoAinda não há avaliações
- Agenda XXX PibicmpegDocumento5 páginasAgenda XXX PibicmpegWendel WhateleyAinda não há avaliações
- QTC LABRE RS - Edição 09Documento6 páginasQTC LABRE RS - Edição 09Tomi PasinAinda não há avaliações
- Anais 2006 Com MarcaçõesDocumento198 páginasAnais 2006 Com MarcaçõesViviane Feitosa100% (1)
- Livro - Cadeia Produtivada LagostaDocumento220 páginasLivro - Cadeia Produtivada LagostaDirceu Eliseire JrAinda não há avaliações
- Microfilmagem de PreservacaoDocumento43 páginasMicrofilmagem de PreservacaoAdriano BaboAinda não há avaliações
- 1 Circular COINES 2023Documento4 páginas1 Circular COINES 2023Ruan DinizAinda não há avaliações
- Caderno CBLA vf1Documento372 páginasCaderno CBLA vf1Rogério TilioAinda não há avaliações
- Os Desafios de Um Estudo Sobre A PetrobDocumento4 páginasOs Desafios de Um Estudo Sobre A Petrobpaula.ritterAinda não há avaliações
- Revista PortugalRomano-n2 (Vers1 2)Documento83 páginasRevista PortugalRomano-n2 (Vers1 2)Miguel Banha100% (2)
- 2009 - Carta de CuritbaDocumento8 páginas2009 - Carta de CuritbaAnna CristinaAinda não há avaliações
- Edital Circulou UP#15Documento13 páginasEdital Circulou UP#15Carolina Vânia CunhantaAinda não há avaliações
- Portfolio AbemecDocumento61 páginasPortfolio AbemecLuis Felipe BirmannAinda não há avaliações
- Direito dos recursos hídricos brasileiros: Comentários à Lei nº 9.433/97 (atualizada)No EverandDireito dos recursos hídricos brasileiros: Comentários à Lei nº 9.433/97 (atualizada)Ainda não há avaliações
- Boletim SBI N - 78Documento7 páginasBoletim SBI N - 78Flavio Cesar Thadeo de LimaAinda não há avaliações
- AACR Volume 1Documento329 páginasAACR Volume 1DREIKAinda não há avaliações
- Sítio Mogi 1 - Relatório FinalDocumento200 páginasSítio Mogi 1 - Relatório FinalAnderson Alves-PereiraAinda não há avaliações
- Mpp1 - Apresentação - Museu de Ciência e Cultura Do Mar - Apresentação e Análise Crítica Na Perspectiva Da Questão Museal e Da Tecnologia SocialDocumento13 páginasMpp1 - Apresentação - Museu de Ciência e Cultura Do Mar - Apresentação e Análise Crítica Na Perspectiva Da Questão Museal e Da Tecnologia SocialFellipe RedóAinda não há avaliações
- 08 MCN 2022 - SumárioExecutivoDocumento4 páginas08 MCN 2022 - SumárioExecutivoTiagoAinda não há avaliações
- Aacr2 Completo2Documento722 páginasAacr2 Completo2Jackson SousaAinda não há avaliações
- Registro (Magazine)Documento0 páginaRegistro (Magazine)fernandofgmAinda não há avaliações
- GESTER, Carolina - Ladrilhos Hidráulicos em BelémDocumento144 páginasGESTER, Carolina - Ladrilhos Hidráulicos em BelémGabriel MadrugaAinda não há avaliações
- Apostila ShaperDocumento30 páginasApostila ShaperPhelipe SousaAinda não há avaliações
- CNPASA2015 Doc 20Documento44 páginasCNPASA2015 Doc 20Elias Junior JuniorAinda não há avaliações
- Relatório Comissão - Formação Continuada Condutores de VisitantesDocumento24 páginasRelatório Comissão - Formação Continuada Condutores de VisitanteslcbragaslvAinda não há avaliações
- Estudo e Proposta de Trabalho para HotelDocumento15 páginasEstudo e Proposta de Trabalho para HotelDaniele MendesAinda não há avaliações
- ApostilaDocumento67 páginasApostilaJoseane LimaAinda não há avaliações
- Mónica OliveiraDocumento231 páginasMónica OliveiraJoao TeixeiraAinda não há avaliações
- Revista ÁreaDocumento64 páginasRevista ÁreaWilton Flavio Camoleze AugustoAinda não há avaliações
- O Municipal N.º 377 Website PDFDocumento52 páginasO Municipal N.º 377 Website PDFgimaripozaAinda não há avaliações
- EDITAL_N_03-2024_-_IEA-UNIFESSPA_MOCTEC_ASSINADODocumento8 páginasEDITAL_N_03-2024_-_IEA-UNIFESSPA_MOCTEC_ASSINADOproflwysAinda não há avaliações
- Bacia Do Rio Jaguaribe-Diagnostico-Volume4-Estudos AmbientaisDocumento253 páginasBacia Do Rio Jaguaribe-Diagnostico-Volume4-Estudos AmbientaisCleber SegallAinda não há avaliações
- SIAESP Relatório 2021Documento20 páginasSIAESP Relatório 2021viniciusgs93Ainda não há avaliações
- Criação de Mariscos e OstrasDocumento57 páginasCriação de Mariscos e OstrasOlavo PastoreAinda não há avaliações
- Apostila Ferramentaria PDFDocumento124 páginasApostila Ferramentaria PDFSineia RodriguesAinda não há avaliações
- Cultura, Natureza e Produção: A Carpintaria Naval Artesanal em Raposa-MANo EverandCultura, Natureza e Produção: A Carpintaria Naval Artesanal em Raposa-MAAinda não há avaliações
- Portaria No 27 de 13 de Janeiro de 1998Documento9 páginasPortaria No 27 de 13 de Janeiro de 1998Bernardo ArribadaAinda não há avaliações
- Alfredo Ellis Junior - Bandeiras e Entradas PDFDocumento5 páginasAlfredo Ellis Junior - Bandeiras e Entradas PDFBernardo ArribadaAinda não há avaliações
- Revista Menu 144Documento34 páginasRevista Menu 144Bernardo ArribadaAinda não há avaliações
- Alfredo Ellis Junior - O Ciclo MuarDocumento9 páginasAlfredo Ellis Junior - O Ciclo MuarBernardo ArribadaAinda não há avaliações
- Érico Brito - O Som Guardado Na Quartinha - Uma Etnografia Acustemológica de Um Candomblé Da Nação KetuDocumento78 páginasÉrico Brito - O Som Guardado Na Quartinha - Uma Etnografia Acustemológica de Um Candomblé Da Nação KetuBernardo ArribadaAinda não há avaliações
- Olu Oguibe - O Fardo Da CuradoriaDocumento12 páginasOlu Oguibe - O Fardo Da CuradoriaBernardo ArribadaAinda não há avaliações
- Marcia Sant'Anna - Escravidão No Brasil - Os Terreiros de Candomblé e A Resistência Cultural Dos Povos NegrosDocumento10 páginasMarcia Sant'Anna - Escravidão No Brasil - Os Terreiros de Candomblé e A Resistência Cultural Dos Povos NegrosBernardo ArribadaAinda não há avaliações
- Meyriat. Documento, Documentação, DocumentologiaDocumento14 páginasMeyriat. Documento, Documentação, DocumentologiaAnonymous QMFYEGcfZ7Ainda não há avaliações
- Zita Possamai - O Museu e As Transformações Sociais - Considerações Sobre Um Projeto de Ação AfirmativaDocumento10 páginasZita Possamai - O Museu e As Transformações Sociais - Considerações Sobre Um Projeto de Ação AfirmativaBernardo ArribadaAinda não há avaliações
- Museu Correios - Revista Postais 07Documento262 páginasMuseu Correios - Revista Postais 07Bernardo ArribadaAinda não há avaliações
- Lena Vania Pinheiro - 32 Anos de CIDocumento54 páginasLena Vania Pinheiro - 32 Anos de CIBernardo ArribadaAinda não há avaliações
- Zita Possamai - Ensino e Memória - Os Museus em Espaço Escolar PDFDocumento9 páginasZita Possamai - Ensino e Memória - Os Museus em Espaço Escolar PDFBernardo ArribadaAinda não há avaliações
- Judite Primo - Documentos Básicos Da Museologia PDFDocumento14 páginasJudite Primo - Documentos Básicos Da Museologia PDFBernardo ArribadaAinda não há avaliações
- Numismática 2Documento26 páginasNumismática 2Bernardo ArribadaAinda não há avaliações
- Ferrugem Nos SelosDocumento3 páginasFerrugem Nos SelosBernardo ArribadaAinda não há avaliações
- Ebook Enem Semana 01 IntensivoDocumento231 páginasEbook Enem Semana 01 IntensivoBruno FeitosaAinda não há avaliações
- Dados Tecnicos R 134a Gas ServeiDocumento4 páginasDados Tecnicos R 134a Gas ServeiMalanda HenriquesAinda não há avaliações
- Quim 8 A 10 ClasseDocumento11 páginasQuim 8 A 10 ClasseNelsonAinda não há avaliações
- Processo de FabricoDocumento13 páginasProcesso de FabricoprofcmAinda não há avaliações
- Circuitos MagneticosDocumento8 páginasCircuitos MagneticosFrancisco Canto ReyesAinda não há avaliações
- Caracterização e Funcionalização Da Argila Esmectita Na Remoção de Corante Com A AdsorçãoDocumento99 páginasCaracterização e Funcionalização Da Argila Esmectita Na Remoção de Corante Com A AdsorçãoMaria Isabel OliveiraAinda não há avaliações
- A Aplicabilidade Do PhmetroDocumento24 páginasA Aplicabilidade Do PhmetroJonas Gomes Pereira50% (2)
- Relatorio 8 - Curva de DestilacaoDocumento5 páginasRelatorio 8 - Curva de DestilacaoAndré Luís Della VolpeAinda não há avaliações
- Modelo de Laudo para Guindaste Grua Ou Perfuratriz Montado Sobre Chassis NacionalDocumento5 páginasModelo de Laudo para Guindaste Grua Ou Perfuratriz Montado Sobre Chassis NacionalWwmm WMAinda não há avaliações
- Exercicios para A Prova de Frundamentos de Química OrgânicaDocumento12 páginasExercicios para A Prova de Frundamentos de Química OrgânicaElizandraBabinskiAinda não há avaliações
- Fispq - Cera Power Auto BrilhoDocumento6 páginasFispq - Cera Power Auto BrilhoFlavio Furtuoso RoqueAinda não há avaliações
- FDT DISPERSORES E ADITIVOS Rev02Documento7 páginasFDT DISPERSORES E ADITIVOS Rev02kensley oliveiraAinda não há avaliações
- 63 20isomeria 20espacial 20geom C3 A9tricaDocumento12 páginas63 20isomeria 20espacial 20geom C3 A9tricacarolshAinda não há avaliações
- Livro Proprietário Técnica DietéticaDocumento241 páginasLivro Proprietário Técnica DietéticaDandara Haru100% (8)
- NylonDocumento3 páginasNylonNihaoAinda não há avaliações
- Resistencia Dos Materiais - R C Hibbeler 5 Ed Utfpdf - TKDocumento16 páginasResistencia Dos Materiais - R C Hibbeler 5 Ed Utfpdf - TKMatheusAinda não há avaliações
- O Que É A Comunicação Celular e para Que Serve?Documento6 páginasO Que É A Comunicação Celular e para Que Serve?EnzoAinda não há avaliações
- Protocolo Formula Anestésica para MicroagulhamentoDocumento6 páginasProtocolo Formula Anestésica para MicroagulhamentoBurguer do Dão100% (1)
- Portaria 344Documento5 páginasPortaria 344Amanda MuruciAinda não há avaliações
- Aula 5 - Balanco Energia PDFDocumento93 páginasAula 5 - Balanco Energia PDFIvo Rafael da SilvaAinda não há avaliações
- Fispq Auto Alcool AditivadoDocumento10 páginasFispq Auto Alcool AditivadodjalmacandidoAinda não há avaliações
- Tabela Microbiologia Clinica - MicologiaDocumento6 páginasTabela Microbiologia Clinica - MicologiaKarol FernandesAinda não há avaliações
- Manualtecnicobombasanfibiasrev12 Baixares PDFDocumento95 páginasManualtecnicobombasanfibiasrev12 Baixares PDFFernanda AndradeAinda não há avaliações
- Slide Do EnxofreDocumento18 páginasSlide Do Enxofreeliardo_viniciusAinda não há avaliações
- Exercícios AminoácidosDocumento2 páginasExercícios AminoácidosAndré Bezerra ChagasAinda não há avaliações