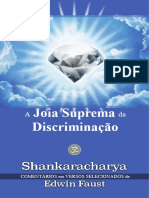Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
(Hebeche) Não Pense, Veja - Sobre A Noção de Semelhança de Familia de Wittgenstein
(Hebeche) Não Pense, Veja - Sobre A Noção de Semelhança de Familia de Wittgenstein
Enviado por
Maristela RochaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
(Hebeche) Não Pense, Veja - Sobre A Noção de Semelhança de Familia de Wittgenstein
(Hebeche) Não Pense, Veja - Sobre A Noção de Semelhança de Familia de Wittgenstein
Enviado por
Maristela RochaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
"No pense, veja!
"
Sobre a noo de "semelhanas de famlia" em Wittgenstein
Luiz Hebeche
*
Resumo: Neste artigo mostraremos a relevncia da noo de semelhanas de famlia na
estratgia de Wittgenstein para eliminar a tendncia ao essencialismo, mostrando-a como
uma iluso gramatical. Ele convida o leitor das Investigaes Filosficas para que
procure ver e no pensar, pois o pensamento filosfico tende a hipostasiar-se em
entidades metafsicas, que surgem da nossa "nsia de generalidade". A noo
semelhanas de famlia serve como terapia ocultao da execuo da linguagem em
conceitos universais e abstratos.
Palavras-chave: Wittgenstein, semelhanas de famlia, essencialismo.
Abstract: This article aims at showing the bearing of the notion of family resemblance on
Wittgenstein's strategy to impugn our bias to essentialism, by charaterizing such a bias as
a grammatical illusion. He invites the reader of the Philosophical Investigations to try to
see rather than to think, for philosophical thought inevitably tends to hipostasize
methaphysical entities that stem from our urge to "generality". Hence, the notion of family
resemblance functions as a therapeutic device to stop us from resorting to universal and
abstract concepts.
Key-words: Wittgenstein, family resemblance, essentialism.
*
Departamento de Filosofia - UFSC
2
Um ideal de exatido no est previsto
(PU 88).
A noo de semelhanas de famlia introduzida no 65 das Investigaes Filosficas
(PU), onde Wittgenstein, colocando-se no ponto de vista de um interlocutor imaginrio,
afirma:
Aqui encontramos a grande questo que est por trs de todas essas
consideraes. Pois poderiam objetar-me: "Voc simplifica tudo! Voc fala de todas as
espcies de jogos de linguagem possveis, mas em nenhum momento disse que o que
essencial do jogo de linguagem, e portanto da prpria linguagem. O que comum a todos
esses processos e os torna linguagem ou partes da linguagem. Voc se dispensa pois
justamente da parte da investigao que outrora lhe proporcionara as maiores dores de
cabea, isto , quela concernente forma geral da proposio e da linguagem.
E isso verdade. - Em vez de salientar (anzugeben) algo que comum a tudo
aquilo que chamamos de linguagem, digo que no h uma coisa comum a esses
fenmenos, em virtude da qual empregamos para todos a mesma palavra, - mas sim que
esto aparentados (verwandt) uns com os outros de muitos modos diferentes. E por causa
desse parentesco ou desses parentescos, chamamo-los todos de "linguagens". Tentarei
elucidar isso.
Wittgenstein vai de encontro noo de algo em comum, essncia, universalidade
ou generalidade. Essa posio metafsica concebe a humanidade do homem, a cadeiridade
da cadeira, a mesidade da mesa, a cachorridade do cachorro, enfim, a qididade da coisa.
Na sua obra juvenil o "algo comum" encontrava-se na concepo da forma geral da
proposio. Mas aquilo que lhe dera as maiores dores de cabea agora ser dispensado
como uma iluso gramatical, pois no h nada que possa ser comum linguagem, pois
sequer se pode falar sobre a linguagem. No h algo como "a" linguagem, "o" mundo, "a"
proposio, "a" realidade, "o" pensamento. Tambm na obra juvenil, as proposies
filosficas (do TLP, por ex.) so contra-sensos. No entanto, a concepo de que a essncia
da proposio coincide com a essncia da realidade
1
j no pode ser sustentada, pois no
h nada em comum nem na linguagem, nem na realidade e nem entre a linguagem e a
realidade. A intencionalidade - a conexo entre a linguagem e a realidade - no envolve
um terceiro elemento ou processo que possa afirmar coisas do tipo: "a essncia da
proposio coincide com a essncia da realidade". A noo de "essncia da proposio"
uma iluso herdada da metafsica grega, como se a linguagem tivesse algo prprio ou
1
A forma proposicional geral a essncia da proposio (TLP 5.471). Tractatus logico-philosophicus ser
abreviado como TLP.
Especificar a essncia da proposio significa especificar a essncia de toda a descrio e, portanto, a
essncia do mundo (TLP 5.4711).
3
comum, independente da realidade. Ora, a forma geral da proposio o mesmo que a
forma da linguagem e esta coincide com a essncia do mundo. Desse modo, encontrar a
forma geral da proposio encontrar a essncia da realidade ou do mundo. Porm, "as
maiores dores de cabea" foram afastadas a medida que se desfizeram as iluses
gramaticais que as originaram. E isso torna-se possvel quando se passa a entender que o
essencialismo uma iluso a respeito do funcionamento da linguagem. A noo de forma
geral da proposio um dogmatismo que se origina no anseio por alcanar um ponto de
vista externo execuo lingstica. A "dor de cabea" surge da "nossa nsia de
generalidade". Isto , em vez de descrever o modo "como" funciona a linguagem tenta-se
responder pelo "que" constitui as coisas, o que a linguagem, o que o pensamento, etc.
O "que" a essncia que Wittgenstein ocupa-se em afastar, ou seja, o "algo comum" que
estaria subjacente (e a fortiori seria o fundamento oculto) ao pensamento, linguagem e
ao mundo. E mais ainda, a iluso de que haveria algo de comum entre o pensamento, a
linguagem e o mundo. A iluso gramatical est no anseio por um ideal de perfeio que se
encontraria no mito intelectualista de que um pensamento correto expresso por uma
linguagem perfeita e que, com isso, se alcanaria a essncia do mundo
2
. A noo de que
h "algo em comum" a esses conceitos e que lhe permitiu, anteriormente, conectar a
essncia da proposio com a essncia do mundo cede lugar agora para a noo de
"semelhanas de famlia". A essncia oculta desses conceitos substituda pelos seus usos
na linguagem. O seus significados no remetem para alm da sua execuo efetiva na
linguagem. A vivncia da significao das palavras geralmente expressa um certo
parentesco que elas tem entre si. Parentesco aqui quer dizer: proximidade de funes das
palavras na linguagem. O significado de uma palavra no um objeto especfico que lhe
corresponde, mas o aglomerado-de-usos-afins que ela tem na linguagem. Ou seja, pode-se
falar de "mundo dos gregos", "mundo de So Paulo", "mundo dos qumicos", "mundo dos
apicultores", etc.; tambm pode-se falar da "linguagem dos enxadristas", "linguagem dos
romnticos", "linguagem dos computadores", "linguagem dos matemticos", etc. Um dos
exemplos que Wittgenstein recorre para desenvolver a crtica ao essencialismo o que
ordinariamente chamamos de "jogos". Ele convida o leitor das Investigaes Filosficas a
que "no pense, mas veja", isto , de que, para levar adiante seu objetivo, tem-se de evitar
o "que", ou seja, evitar a inclinao por "dar razes", e, portanto, a de recolocar a pergunta
socrtica: "o que isto?". A gramtica nada explica, apenas descreve. E ao descrever
diferentes jogos como os de tabuleiro, de cartas, de bola, torneios esportivos, etc. no se
est procura do que haveria de comum entre eles, mas apenas descrevendo os "jogos"
com as suas diferentes prticas e as suas diferentes regras. Wittgenstein procura mostrar
que eles no se chamam "jogos" por terem algo em comum.
A rejeio do modelo explicativo pode ser encontrada na distino gramatical entre
os conceitos "conhecer", "explicar", "compreender" e "definir". "Definir" e "conhecer"
no determinam a compreenso de uma sentena. Ou melhor, a compreenso de uma
sentena ou de uma palavra no est assegurada por explicaes e definies. As
2
Respondendo a esse otimismo ontolgico Wittgenstein afirma: particular iluso de que se fala aqui vm-
se juntar outras, de diferentes lados. O pensamento, a linguagem, aparecem-nos como o nico (einzigertige)
correlato, imagem (Bild) do mundo. Os conceitos: proposio, linguagem, pensamento, mundo esto numa
srie uns depois dos outros, cada um eqivalendo ao outro. (Para que, porm, so empregadas (brauchen)
essas palavras? Falta o jogo de linguagem na qual elas so empregadas. (PU 96)
4
distines gramaticais entres os conceitos visam eliminar a tendncia socrtica de
encontrar o "algo comum" ou a "essncia" dos componentes de uma sentena, como a do
exemplo do 70 das PU, "O solo est inteiramente coberto de plantas". Ora, no se trata
de conhecer o "que", mas de dominar a tcnica de "como" so eles usados na linguagem,
isto , se trata de dominar as funes das palavras na linguagem e no o que constitui a
essncia dos seus constituintes. Para compreender essa sentena no necessrio conhecer
o que uma "planta", ou o que "solo", etc. Com a rejeio do modelo socrtico, que
pretende definir claramente cada palavra, afasta-se tambm a concepo analtica da
linguagem. Isto , a concepo de que a compreenso de uma sentena s efetiva quando
se define com clareza os seus constituintes. Enfim, a iluso gramatical est no projeto de
eliminar a ambigidade e impreciso da linguagem ordinria. Para Baker e Hacker, na
seo 70 encontra-se algo mais em questo que precisa ser melhor explicitado. Essa
explicitao diz respeito crtica de Wittgenstein do modelo agostiniano da linguagem,
que se encontra ao longo das PU em sees como:
... a compreenso no um processo mental (PU 154)
... a aplicao permanece o critrio da compreenso (PU 146). Etc.
a partir dessa posio que se pode destrinchar a complexa (e confusa) gramtica
dos conceitos que tendem a assumir um vis teortico, ou seja, tendem a assumir a
concepo de que para compreender palavras ou sentenas depende da sua definio ou do
seu conhecimento, isto , no exemplo acima, o que "jogo"?, o que "planta"?, etc. E
assim a compreenso da frase "O solo est coberto de plantas" dependeria da definio
dos seus constituintes. E esse esclarecimento levaria ao que comum a cada um deles, a
essncia de "solo", a essncia de "planta", etc.
Um outro problema o que diz respeito possibilidade da conexo entre conhecer
o que significa "planta" e ser capaz de explicar ou dizer o que ela significa. Mas ento
uma nvoa envolve os conceitos de "definir", "explicar" e "compreender", pois,
diferentemente de Frege que estabelece um contraste entre "definio" e "explicao", em
Wittgenstein, a gramtica da definio se assemelha a de explicao. Na seo 69 das PU
a palavra "jogo" pode ser "explicada", e, nessa passagem, o que se trata de refutar a
noo de que no se pode "compreender" essa palavra se, antes, no se poder "defini-la".
Mas Wittgenstein sustenta que no a definio, mas a explicao o "correlato" da
compreenso, ou seja, de que ter a habilidade para explicar o que significa isto ou aquilo
(isto , ser capaz de responder "o que quer dizer (mean) isto?") o critrio da
compreenso de uma palavra, mas no ser capaz de defini-la no critrio para no
compreend-la
3
. Mas a habilidade de explicar o significado de uma palavra no
reintroduziria o modelo socrtico-platnico? Ora, a gramtica das palavras em que se
distingue entre "compreender" e "definir" que permite afastar o socratismo. Alis, nos
textos preparatrios das PU, Wittgenstein faz um breve comentrio a uma passagem de
3
Baker G. P. e Hacker P. M. S., An Analytical Commentary on Wittgenstein's Philosophical Investigations,
Oxford: Basil Blackwell , 1983, p. 141. O dilogo tende objetivao, por isso a mxima realizao da
objetividade a dialtica platnica.
5
Plato
4
em que Scrates afirma: Tu o conheces e podes falar grego, portanto tu deves ter
habilidade para diz-lo. Scrates ento distingue entre "conhecer" e "ter habilidade para
dizer". E Wittgenstein chama a ateno para a inferncia errnea de quem no capaz de
"definir", ou seja, saber o que "justia", "piedade", "coragem", "virtude", etc. no estaria
efetivamente em condies de falar delas. Sem estar assegurado no conhecimento o
discurso seria flatus voicis. Para o platonismo compreender basicamente conhecer, ou
melhor, definir. Na medida que o filsofo pode definir o que isto ou aquilo que poder
compreender. A compreenso est delimitada pela definio. A dialtica platnica - como
nos mostrou Aubenque
5
- distinta do modo peculiar como os antigos gregos a
concebiam. A dialtica platnica, para Aubenque, suprime a abertura do dilogo. Mas
Wittgenstein vai mais longe, o dilogo tende a encobrir a sua origem, isto , a antecipao
da compreenso. O dilogo origina-se na compreenso. Compreenso execuo. Na
compreenso, o dilogo permanece aberto. A compreenso no coincide com o dilogo.
Sem compreenso prvia no h dilogo. Por isso, na compreenso permanece-se em
suspenso
6
. No entanto, Plato restringe a compreenso dialtica objetivadora. Ou
melhor, ao priorizar-se a explicao e a definio acaba-se distorcendo o conceito de
compreenso. Portanto, o erro de Plato est em que a "habilidade para dizer" deve ser
legitimada pela "habilidade para definir"
7
. Esses autores nos lembram que Wittgenstein
pretende mostrar que o intil aqui a "definio", no "explicao" e a "compreenso",
pois estas dizem respeito ao modo como as palavras so usadas na linguagem. Esse o
caso da sentena "O solo est coberto de plantas", cuja compreenso, como vimos,
dependeria da definio de seus constituintes "solo", "cobrir", "planta", etc. Ora, o critrio
para a compreenso dessa sentena no depende da definio desses conceitos. A
definio pretende eliminar a vagueza da linguagem. Mas a compreenso vaga, isto , a
gramtica da compreenso no depende de uma garantia estabelecida pela definio. A
compreenso autnoma. A "essncia" da compreenso est na gramtica e, portanto, no
diz respeito a nenhuma essncia comum externa execuo da linguagem.
A definio retm o "algo comum" das palavras, e, com isso, distorce o conceito
de compreenso. E esse tambm o caso do conceito de "jogo". O jogo de linguagem do
conceito "jogo" no depende da essncia que seria subjacente ao uso dessa palavra em
seus diversos contextos, pois esse conceito tampouco tem contornos precisos. No 71
continua Wittgenstein contrapondo-se a Frege - e a nosso ver a toda tradio ontoteolgica
- perguntando se um conceito impreciso realmente um conceito. A tradio socrtica
prolonga-se at Frege quando este, metaforicamente, compara o conceito com um distrito.
Numa cincia rigorosa esse "distrito" teria os contornos precisos; portanto, no haveria
lugar para uma compreenso imprecisa como ocorre com as artes e as humanidades.
Nessas reas do conhecimento falta o rigor da lgica. E a lgica trata da verdade. E, nesse
ncleo duro, os conceitos, como distritos, tem de ter os limites precisos o que no ocorre
nas reas mais "moles" do conhecimento: as cincias humanas. No entanto, Wittgenstein,
4
Segundo Baker e Hacker possivelmente se trata de Crmides 159a. Porm, essa informao no procede.
5
"Para Plato era a dialtica enquanto tal ontologia". Ver Pierre Aubenque, El problema del ser en
Aristteles, Taurus Ediciones, Madrid, 1974, p. 248.
6
Para Backer e Hacker: "Nenhuma forma de explicao, nem mesmo de definio, garante a compreenso.
Qualquer explicao pode ser no ser compreendida (misunderstood)". Op. cit, p. 145.
7
op. cit, p. 142.
6
para destacar o conceito de compreenso toma uma posio oposta a Frege e afirma a
vantagem da vagueza e da impreciso. Com isso, a posio de Frege tomada como uma
restrio da compreenso, isto , a compreenso tomada como explicao ou definio.
Porm, uma fotografia pouco ntida tambm uma imagem de uma pessoa. Por vezes,
essa falta de nitidez pode ser til. A posio dogmtica de Frege sobre a verdade lgica
descarta a falta de preciso. A sentena assertrica central para Frege, mas a
determinao de seu sentido vincula-se sempre aos seus valores de verdade. Ou seja, a
sentena assertrica ou verdadeira ou falsa. Conceitos que completam sentenas como:
"A porta ...", "O carro ...", "O nmero de planetas ...", etc. no podem ser mais ou
menos verdadeiros ou mais ou menos falsos
8
. O conceito tem de ser como um distrito
preciso, nitidamente delimitado. Essa comparao, porm, no convincente para
Wittgenstein, pois, por exemplo, quem mora em Porto Alegre no distrito ou bairro
Petrpolis dificilmente poder traar uma linha precisa que o delimitam dos bairros Santa
Ceclia ou Bela Vista. E que sentido teria traar um limite preciso aqui? Em que isso
auxiliaria um turista a chegar a tal ou qual ponto? Aqui uma delimitao precisa intil,
apenas pode-se apontar para certos trechos, marcos ou detalhes que podero orientar o
turista. Do mesmo modo, explica-se o que um jogo. A explicao (erklrt) feita a partir
de exemplos. Com isso, a sublimidade da lgica cede ento lugar a um mtodo mais
"grosseiro" ou "rudimentar". O recurso a exemplos no para que se possa ver o "algo
comum", que no se poderia explicar de outro modo. Ou seja, o emprego de exemplos no
se deve dificuldade em exprimir esse "algo comum", pois esse recurso caracterizado
pelo seu modo de emprego para determinadas finalidades como a de explicar o jogo de
linguagem da palavra "jogo". Diz Wittgenstein: "A exemplificao no aqui um meio
indireto de elucidao, - na falta de outro melhor"
9
. O mtodo rigoroso da lgica
substitudo por outro mtodo, constitudo pela habilidade em dar exemplos. Essa oposio
reforada explicitamente: "... mas me interesso por aquilo que se tornou impuro" (PU
100). Mas exemplos no so asneira ou meros truques; ao contrrio, so alternativas ao
monismo filosfico, pois
No h um mtodo em filosofia, mas diferentes mtodos, como diferentes terapias
(PU 133).
8
No artigo Sobre o Sentido e a Referncia, Frege reconhece uma dificuldade no projeto de uma cincia que
tenha em vista uma linguagem perfeita. So as "variaes de sentido"; por exemplo, o nome prprio
"Aristteles" pode ser entendido como o mestre de Alexandre, ou como aluno de Plato, etc. Para Frege,
essas variaes de sentido podem ser toleradas desde que a referncia permanea a mesma. Porm, o
conhecimento da referncia parcial, portanto, impreciso. Ou seja, um processo temporal impede o
estabelecimento imediato do valor de verdade de uma sentena. Nas suas palavras: "O sentido de um nome
prprio entendido por todos os que estejam suficientemente familiarizados com a linguagem ou com a
totalidade de designaes a que ele pertence; isto, porm, elucida a referncia, caso ele tenha uma, mas de
uma maneira sempre parcial. Para um conhecimento total da referncia, exigir-se-ia que fossemos capazes
de dizer, imediatamente, se um dado sentido pertence ou no a essa referncia. Isto, porm, nunca
conseguiremos". Ou seja, isso compromete sua concepo de que o valor de verdade de uma sentena faa
parte do "terceiro reino" inamovvel, pois o processo mental de reconhecimento da referncia impede que se
possa apreender imediatamente um pensamento. Ver Frege, Lgica e Filosofia da Linguagem, So Paulo:
Cultrix e USP, 1978, p. 63.
9
"Das Exemplifizieren ist hier nicht ein indirektes Mittel der Erklrung, - in Ermanglung eines Bessern"
(PU 71).
7
E um dos mtodos alternativos o de dar exemplos, alis, o engano surge quando
um exemplo passa a ser unilateralmente aplicado. Esse o caso do modelo objeto-
designao. Ele apenas um modelo entre outros, mas, medida que aceito sem
contestao, torna-se uma "doena filosfica" que restringe a gramtica da linguagem.
A causa principal das doenas filosficas - dieta unilateral: alimenta nosso
pensamento apenas com uma espcie de exemplos (PU 593).
O recurso a exemplos faz parte da estratgia para eliminar a "nsia de
generalidade", ou a inclinao por "ver o algo comum" (Das Gemeinsame sehen), ou
ainda a "preocupao por certeza" (Sorge fr Gewissheit). Foi essa preocupao que levou
os filsofos a buscarem apoio em essncias objetivamente concebidas nas coisas externas,
na conscincia interna ou num terceiro reino. Para entender melhor essa procura pela
essncia voltemos a tematizar a iluso gramatical que a origina.
A nsia por "ver algo comum" a tentativa encontrar um critrio seguro para as
elucidaes. Ora, o significado de uma palavra seu uso na linguagem. No h critrio
externo. O "ver algo comum" uma ocultao dessa execuo lingstica. Para mostrar
isso Wittgenstein recorre a exemplos bastante sutis, pois a iluso de estabilidade surge da
prpria linguagem. O modo de emprego das palavras o que decide se o algo comum tem
efetivamente funes na execuo da linguagem ou se uma iluso essencialista. o caso
de quando, por exemplo, se mostra a algum diferentes quadros coloridos e se diz: "A cor
que voc v em todos chama-se ocre". Nesse caso, quem v o quadro pode encontrar algo
comum, isto , a cor ocre. Mas as dificuldades (as iluses gramaticais) comeam a surgir
quando olha-se para os quadros pintados com diversas figuras em tons de ocre e se diz: "O
que elas tem em comum chama-se 'ocre'". Wittgenstein ainda insiste noutro exemplo
parecido. Mostra-se modelos com diferentes matizes de azul e, ento, se diz: "A cor que
comum a todos chamo de 'azul'". Ou seja, nessas sentenas expressa-se a diferena entre a
cor comum a vrios quadros ou figuras que se chama de "ocre" ou "azul" e quando essas
palavras so empregadas para referir-se a algo comum. "Ocre" uma palavra que expressa
uma cor comum a vrios quadros, mas no expressa algo comum que no seja uma cor.
Ou melhor, de que "azul" ou "ocre" seja uma entidade ou uma razo de ser desses quadros
ou figuras. Nesse caso, passa-se das funes dessas palavras na linguagem para algo
comum que est alm delas. O algo comum torna-se ento a razo de ser dessas funes.
Mas essa a iluso gramatical que se precisa afastar, pois as regras de uso das palavras
das cores na linguagem no dependem de explicaes que esto margem de seus usos. A
funo das palavras das cores na linguagem o critrio. A noo do "algo comum"
vinculado s palavras "azul" e "ocre", nos exemplos, criam a iluso de um processo
intermedirio de reconhecimento que daria salvo conduto para o uso dessas palavras. Com
isso, o critrio dependeria de uma terceira entidade. o mesmo caso do conceito de
"jogo", isto , o engano est na explicao de que esse conceito depende do que
essencial a todos os jogos. Ou seja, a diversidade de exemplos ou modelos dependeriam
de algo intermedirio que seria comum a esses exemplos. Portanto, uma sentena como
"O que elas tem em comum chamo de 'azul'" pode expressar a iluso desse elemento
intermedirio denominado de "azul", mas essa aplicao da palavra uma distoro do
seu uso efetivo, pois nenhuma caracterstica comum pode se interpor ao critrio
semntico: o uso das palavras na linguagem. O "ver algo comum" platonismo. Isto , a
8
execuo lingstica passa a depender de justificaes ou de meta-regras. E o platonismo
a iluso gramatical originada no modelo objeto-designao. Platonizar justificar. E o
platonismo tem muitas verses. Uma tpica fonte de iluso gramatical o mentalismo. O
mentalismo ento uma justificao; ou melhor, o que vem a ser uma cor, uma sabor, um
odor, um pensamento, etc., passa a ser garantido por um processo mental. A questo de
como reconheo que esta cor azul, ou ocre, ou marrom tende a ser respondida
invocando-se uma imagem mental. E esse o mito que nos persegue sempre: "o fantasma
dentro da mquina" (G. Ryle)
10
. O "ver algo comum" concebido tambm a partir desse
mito.
A sentena "A cor que comum a todos chamo de 'azul'" uma iluso gramatical
quando se considera a cor azul como o "comum", isto , como um elemento intermedirio
a partir do qual todos os tons dessa cor dependeriam. A elucidao ostensiva da cor
dependeria de ter-se no esprito (Geist) um correspondente conceito, padro ou modelo. A
mente seria uma espcie de mostrurio que se consultaria para certificar-se de que se trata
desta ou daquela cor. A mente como um recipiente constitudo por modelos ou padres.
Ou seja, se h diferentes matizes da cor azul porque h um padro de azul que comum.
E esse padro - medida - se encontra na mente ou esprito. No entanto, indaga
Wittgenstein, que cor tem o padro azul no esprito? Se h vrios tons de azul, que modelo
seria comum a todos eles? Que processo no esprito resultaria no modelo da cor azul?
Teria de ser um azul puro? O mesmo vale para a palavra "cadeira", como se chega a ter
um modelo de cadeira na mente que seria comum a todas as cadeiras? O mesmo vale para
todas as folhas ou todos os jogos, etc. Em vrias passagens de seu pensamento tardio,
Wittgenstein recorre ao exemplo das iluses gramaticais que se originam nas definies
ostensivas em que as palavras das cores se referem a objetos. Assim como num mostrurio
pode-se encontrar um diversidade de cores com suas palavras correspondentes, a
elucidao de uma cor envolve ento um processo mental. Isto , como consulto o
mostrurio na minha mo, posso consultar o "conceito do elucidado no esprito" (PU
73). Nessa concepo, compreender uma elucidao s possvel se se tiver, no esprito,
um modelo ou padro de correo. Haveria um mostrurio mental que determinaria o que
comum ao verde, ao amarelo, e assim por diante. Um padro de correo retm algo
comum ou geral que permite fazer comparaes entre diferentes matizes de cores. E essa
generalidade encontra-se no esprito. Haveria ento na mente um padro "folha", "jogo",
"azul", etc. E mesmo o procedimento de comparar matizes seria uma comparao entre
representaes mentais das cores. O uso das palavras das cores teria de obter um salvo
conduto de um elemento intermedirio: o mostrurio mental. A execuo da linguagem
dependeria de um evento mental. Mas, no exemplo da folha, a questo como se d
mentalmente o processo de reconhecimento de um padro ou de um conceito? Como se
solda o conceito de folha com uma certa imagem mental da folha? Nas palavras de
Wittgenstein:
Se me mostrarem diferentes folhas e me disserem: "Isto chama-se 'folha'", ento
adquiro um conceito da forma de folha, uma imagem (Bild) dela no esprito (Geist). - Mas
que aspecto tem ento a imagem de uma folha que no mostra uma forma determinada,
10
Ver G. Ryle, The Concept of Mind, Harmondsworth, University of Chicago Press, 1984, p. 18 ss.
9
mas sim 'o que comum a todas as formas de folha'? Que tom de cor tem o 'modelo no
meu esprito' da cor verde? - daquilo que comum a todos os tons de verde? (PU 73).
No se est rejeitando a noo de modelo ou de esquema, mas apenas a concepo
de que esse modelo, padro ou esquema seja uma "forma no esprito", pois pode-se
continuar indagando: que forma deve ter o modelo da folha verde ou do jogo de xadrez?
Essa forma deve ser regular ou irregular? Que forma de tabuleiro deve se ter no esprito?
E a forma das peas do jogo? Do mesmo modo, pode-se determinar arbitrariamente um
certo tom forte de azul e consider-lo como o "azul puro", isto , consider-lo como o
padro a partir do qual se pode comparar as tonalidades das cores. Esse esquema, porm,
no um "padro geral" (allgemeine Muster) que esteja parte do efetivo emprego desse
modelo de comparao. Portanto, o esquema da folha ou da cor azul, ou do jogo, no ,
neste caso, o "algo comum" que tem certas caractersticas especiais, mas apenas o modo
como usado. O esquema ou modelo no uma forma mental, mas o domnio de uma
tcnica: um modo de apresentao
11
. E esse domnio tcnico dos modelos publicamente
partilhado. O engano est em conceber esse modelo como algo geral com propriedades
especiais e inefveis, destacado dos seus usos efetivos. E esses modelos estabelecem os
significados das palavras "folha", "azul", "jogo", etc. Diferentes exemplos so diferentes
modelos de interpretao ou formas de apresentao. As disputas filosficas so conflitos
entre diferentes meios de apresentao. O "essencialismo" a tentativa de por um fim a
esses conflitos numa forma de apresentao nica: o modelo objeto-designao. Portanto,
"ver uma folha em geral", ou "ver uma cor comum" cede lugar para o modo como algo
visto, pois pode-se ver deste ou daquele modo. V-se, porm, segundo um modelo. Por
exemplo, quem v o desenho de um cubo como uma figura plana, v um quadrado e um
losango. Quem v, porm, um cubo como uma amostra espacial o v de maneira diferente
(PU 74). Diferentes modelos so diferentes modos de ver. O desenho esquemtico no
o "algo comum" a uma diversidade de desenhos, mas apenas um desenho empregado de
um certo modo, com tais ou quais objetivos. Com isso, pode-se entender que o significado
da palavra "ver" o domnio de tcnicas. Os diferentes tons de cores o domnio de
tcnicas sutis das palavras das cores, a vivncia da significao das palavras, ou melhor, as
semelhanas de famlia.
* * *
Explicitar o que j est explcito pleonasmo. No se pode responder o que
coragem, virtude, justia ou, nos exemplos acima, folha, verde ou jogo sem que j no se
domine o significado dessas palavras na linguagem. Essa volta ao "solo spero", porm,
envolve ainda algumas dificuldades. Poder-se-ia dizer que j se sabe de antemo o que
um jogo. Mas isso no seria outra vez socratismo? No se estaria todavia assegurando
11
Em La Viena de Wittgenstein, Madrid: Taurus Ediciones, A. Janik e S. Toulmin mostraram como
Wittgenstein, desde suas primeiras obras, recorre ao conceito de modelo ou modo de apresentao
(Darstellung). Essa concepo foi primeiramente adotada, a partir da fsica, por Hertz e Boltzmann, pp.209,
230, 231.
10
algum tipo de conhecimento prvio? Essas dificuldades tornam relevante a questo sobre
"o que significa saber (wissen) o que um jogo" (PU 75). E ainda: muitas vezes se sabe,
mas no se pode dizer o que se sabe. Ou seja, no consigo dizer o que sei. Essas
dificuldades persistem na esteira do socratismo: uns no sabem porque no podem definir
ou justificar o que dizem, enquanto que outros sabem, mas no conseguem dizer o que
sabem. Isso levou Plato ao solipsismo da alma que dialoga silenciosamente consigo
mesma. Idias, definies, a sublimidade de um saber que j no pode ser expresso sem
uma "queda" no mundo impreciso da execuo lingstica. O saber ento um processo
mental inefvel que tem dificuldade de pegar carona na execuo da linguagem. Em
qualquer dos casos, "saber o que significa x ou y" expressa a nsia de generalidade, isto ,
a nsia pela determinao do sentido atravs de um processo mental extra-lingstico.
Desse modo, perguntas como "o que jogo?", "o que planta?", "o que verde?" parece
envolver um reconhecimento que se encontra fora do uso das palavras na linguagem, isto
, de que a resposta a essas perguntas resultaria numa definio que, a sim, autorizaria sua
explicao. E essa iluso gramatical que agora precisa ser desfeita. Para isso,
importante novamente retomar o significado do conceito de "explicao". Ora, como
vimos, a explicao socratismo. Wittgenstein, porm, considera a noo de explicao
vinculada a de descrio das palavras na linguagem. A explicao se aproxima da
descrio e mesmo da compreenso; a compreenso do uso da palavra "significao" tem
a mesma funo de "explicao da significao". A "significao" de uma palavra o que
explica a explicao da significao" (PU 560). Com isso, o conceito de explicao se
distingue dos de definio e de conhecimento
12
. Estes conceitos tendem a ser associados a
processos que se situam alm da linguagem ordinria atravs de um processo de
universalizao semelhante a quem compara manchas de cor fracamente delimitadas das
manchas rigidamente delineadas; mas Wittgenstein questiona como se poderia comparar
manchas nitidamente delineadas das que tem pouca nitidez, pode-se, por exemplo, traar
um retngulo de um vermelho esmaecido que pode corresponder a retngulos de um
vermelho esmaecido, alis isso pode ser feito ad infinitum. Mas originalmente - na vida
cotidiana - as cores em seus mais diversos tons se imiscuem de tal modo que a tentativa de
estabelecer limites rgidos seria uma tarefa irrealizvel. As figuras ntidas nunca poderiam
delimitar essa difusa variedade das cores, poderia fazer retngulos, crculos, o desenho de
um corao, mas isso no poderia estabelecer limites precisos para as cores cotidianas (PU
77). Ora, assim tambm a linguagem. No h como estabelecer limites precisos para os
conceitos. Porm, essa ambigidade conceitual pode ser erroneamente colocada em
termos de diferentes processos mentais em que algum estabelecesse os limites rgidos
para um conceito, mas que eu no pudesse reconhec-lo como aquele que eu estabelecera
mentalmente, isto , o meu conceito seria apenas aparentado com o do dele (PU 76).
Mas a noo de semelhanas de famlia no envolve nenhum processo mental, pois ela
depende da execuo pblica da linguagem. Esse "parentesco mental" do mesmo tipo
daquele que afasta o meu conceito da sua expresso lingstica pblica. E atravs dessa
expresso Wittgenstein afasta-se da mundo inefvel das verdades eternas de Plato (ou de
Frege), pois, ao invs de unificar as palavras em superconceitos filosficos, ele passa
12
Para Baker e Hacker, se no pudssemos distinguir "definio" e "explicao", o 75 seria internamente
incoerente. Ver op. cit., 1983, p. 154. Eles tambm recorrem ao conceito de compreenso, que, como vimos,
tambm se distingue de definio ou de conhecimento.
11
apenas a descrever a sua diversidade de usos na linguagem. o caso do conceito de
"bom", que em Plato se torna a pedra angular da metafsica, a maior expresso de um
saber inefvel que j nem mesmo pode ser dito. O Scrates do mito da caverna um
filsofo que aps ter acessado ao mundo das Idias tenta regressar para anunciar a
verdade, mas j no pode ser compreendido neste mundo, pois no tem como transmitir
sua sabedoria sem rebaix-la uma vez que os outros mortais no tem recursos intelectuais
para ouvi-lo. Por isso, a Idia - o inefvel - est para alm da capacidade de sua
expresso. Esse engano gramatical de Plato no surge, porm, seno do desvio do modo
como as palavras so usadas na linguagem e, portanto, a partir do engano que leva
afirmao "sei, mas no consigo dizer", isto , que o que venha a significar "bom" tenha
antes de ser sancionado por definies, que saber o seu significado , antes de mais nada,
poder defini-lo com preciso. Ora, os conceitos ticos ou estticos constituem tambm
"semelhanas de famlia", pois no h uma definio precisa do que "bom" ou do que
"belo". Nesse caso, a tica e a esttica so tambm expresses da "nossa nsia de
generalidade". A diversidade de usos da palavras "bom" (ou "bem") na linguagem tornam-
na borrada e opaca, isto , a sua definio nunca suficientemente delimitada. Os usos
dessa palavra so tomados a partir dos jogos de linguagem de que participa. Portanto,
dependendo do caso, a definio de bem poder ser correta ou incorreta. Assim como o
exemplo das manchas de cores que se combinam diferentemente. Assim tambm o
conceito de bom: "tudo est certo; e nada est certo" (PU 77). Essa ambigidade original
dos usos da palavra na linguagem no pode ser substituda por uma definio precisa. O
significado da palavra "bom" est, antes, no modo como se ensina e se apreende a us-la
na linguagem. Essa compreenso pblica ambgua da linguagem pode levar a enganos,
isto , de que o falante no consegue expressar o seu conhecimento devido a grande
flutuao (schwankende) no significado dessa palavra. Nesse caso, tem-se a inclinao por
explicar o comportamento do falante individual medida que sua confuso se deve
flutuao do significado. Nesse caso, a flutuao do significado vinculada a uma
confuso mental que poderia ser afastada quando o falante fosse se tornando ciente dela.
Ou seja, a expresso "flutuao entre muitos significados" um engano gramatical se for
considerada como a incapacidade que tem uma pessoa de no poder dizer - ou definir - o
que significa uma palavra, como "bom". Mas, para Wittgenstein, a questo central no a
explicao do comportamento ou da confuso mental, pois toda a confuso mental
efetivamente uma confuso gramatical. Ora, se a compreenso nunca um processo
mental, ento a questo decisiva aqui indagar ao falante: "O que realmente tu queres
dizer?" (Meinen)
13
.
A confuso gramatical que origina a distino entre o que se sabe e o que se pode
dizer continua a ser tematizada em PU 78. Nessa seo, encontram-se diferenas sutis
que podem nos auxiliar a compreender, ou melhor, a afastar as iluses que envolvem o
saber e a execuo lingstica.
Compare: saber e dizer -
quantos metros de altura tem o Monte-Branco -
como usada a palavra "jogo" -
13
Ver Baker e Hacker, op. cit., 1983, p.157.
12
como soa um clarinete.
Quem se admira de que se possa saber (wissen) algo e no se possa dizer (sagen),
pensa talvez num caso como o primeiro. Certamente no pensa num caso como o
terceiro.
A diferena entre o primeiro e o terceiro apenas aparente, pois bvio a atitude
de estranheza quando algum sabe que o Monte Branco tem x metros de altura e no
consegue dizer isso, mas j mais fcil aceitar que um msico, que toque clarinete, tenha
dificuldades em colocar em palavras o que vem a ser o som de um clarinete. Nesses
exemplos, algum tem a posse de um saber e no consegue dize-lo. como se ele
retivesse em sua mente palavras ou sons, mas que no conseguisse compartilh-los com os
outros. O engano aqui a concepo agostiniana da linguagem, ou seja, as frases
proferidas ou o som do clarinete so meios de transporte de processos mentais que, em sua
origem, se encontram fora deles. Para Wittgenstein, porm, a compreenso de uma frase
verbal semelhante a de uma frase musical, assim como h cegos para os aspectos das
palavras tambm h surdos para as tonalidades sonoras
14
. A iluso gramatical a mesma:
supor que algum sabe apenas para si o som de um clarinete, ou melhor ainda, que a
sensao ou o sentimento que ocorre ao ouvir-se uma certa msica seja um evento privado
que causado pela audio. Ao ouvir uma frase musical parece que desperta-se dentro de
mim um certo sentimento que acompanha a frase. Esse sentimento musical privado uma
iluso, pois como seria a compreenso de uma frase musical que algum tivesse apenas
para si mesmo? Como se poderia dar conta do modo como algum vivncia em si mesmo
o sentimento por uma certa melodia? Ora, aqui tem-se de contornar a noo de que a
compreenso musical tambm seja um processo interno, e a linguagem musical
despertaria em ns sentimentos, emoes ou recordaes. H uma diferena entre a
compreenso de uma frase musical e o sentimento que ela possa provocar, s que o
sentimento no um resultado a que leva a msica; o sentimento ele prprio parte da
compreenso, mas a compreenso no parte do sentimento. No se nega que os
sentimentos estejam ausentes quando da audio da msica; o que se rejeita a noo de
que a compreenso da frase seja dependente do sentimento, como se o contedo da frase
estivesse fora dela. A msica no , portanto, uma ponte entre o msico e o ouvinte. A
melodia de uma lied de Mahler no uma mensagem entre o mundo interior do
compositor e o mundo interior do ouvinte; isto , ela no uma ligao entre instncias
margem das frases musicais. O sentido da msica est na msica. Os lamentos da Cano
da Terra no dizem respeito a algo externo a essa composio musical, pois no h um
terceiro mundo capaz de estender uma ponte entre dois reinos exteriores ocultos. Desse
modo, a frase musical no diferente das sentenas na linguagem verbal. A msica de
14
Diz Wittgenstein: O que chamamos "compreender uma frase" tem, em muitos casos, uma semelhana
muito maior com a compreenso de um tema musical do que nos inclinamos a pensar. Mas no quero dizer
que o compreender um tema musical seja mais parecido a uma imagem (picture) que geralmente se tem da
compreenso de uma frase; mas antes que esta imagem errnea, e que compreender uma frase muito
mais parecido ao que sucede realmente quando compreendemos uma melodia do que parece primeira
vista. Pois compreender uma frase, dizemos, aponta para uma realidade exterior frase, quando
deveramos dizer: "Compreender uma frase significa captar seu contedo, e o contedo da frase est na
frase". The Blue and the Brown Books, Oxford: B. Blackwell, 1992, p. 167.
13
Mahler o domnio de tcnicas apreendidas e desenvolvidas na nossa complicada forma
de vida.
A questo de "como soa um clarinete" serve para chamar a ateno para o erro de
tomar o significado, verbal ou musical, como algo que se refere a algo. Considera-se
geralmente a msica como uma expresso artstica que nos enternece, alegra, entristece,
nos torna melanclicos e tudo isso d a impresso de que a msica carrega uma mensagem
muito especial e sublime, isto , de que a msica transporta um sentido que remete para
alm dela mesma, para uma transcendncia. Tanto num caso como noutro, a msica
serviria como um meio para um fim: desperta nossos sentimentos e aponta para o
intangvel. E ento estaramos na iluso agostiniana de que a linguagem um veculo que
transporta uma mensagem. Alcanado seu objetivo, a msica mesma poderia ser
dispensada.
Do mesmo modo, a questo do como "usada a palavra 'jogo'" tem de ser
distinguida do que "significa saber o que 'jogo'". Ela pode ser resolvida a partir de
exemplos de vrios jogos, mas isso parece envolver a dificuldade de traduzir esses
exemplos em palavras, ou seja, haveria um processo mental intermedirio capaz de soldar
os exemplos com as palavras que os expressariam. Pode-se, como vimos, dar explicaes
recorrendo a exemplos, mas, freqentemente, ocorrem dificuldades de colocar o que sei
sobre jogos em palavras, isto , tambm nesse caso, sei, mas no posso dizer o que sei, o
que sei est margem da sua expresso lingstica. Sei o que "jogo", mas sou incapaz de
explicar o que sei. Esse saber se antecipa ao uso peculiar da palavra "jogo" na linguagem.
Do mesmo modo, a anlise lgica da linguagem pretende definir o que jogo, mas essa
tentativa um procedimento que coloca o definido para alm da execuo lingstica, ou
seja, s se pode compreender essa palavra quando se responder de modo preciso
pergunta: "o que jogo?". Sem essa resposta no se pode explicar a palavra "jogo". Ora,
com isso, abre-se um vazio entre o saber e a sua expresso lingstica. Esse vazio
preenchido por uma atividade mental misteriosa. O objetivo de Wittgenstein, porm,
eliminar a noo de corpo de significao, ou melhor, de que o "significado de saber o que
significa a palavra 'jogo'" envolva quaisquer processos extra-lingsticos. O uso da palavra
"jogo" uma habilidade na trama da linguagem; e, nessa trama, uma habilidade nunca
um estado de coisas.
Os significados das palavras - seus vrios usos ou funes na linguagem - se
antecipam a toda explicao terica. Por isso, nas Investigaes Filosficas, Wittgenstein
incita o seu interlocutor para que "No pense, veja!". Isto , para examinar essa execuo
da linguagem preciso afastar a lenda intelectualista vinculada ao conceito de
pensamento. Pois, desde os gregos, pensar dar razes. Ou como afirma Heidegger a
propsito de Leibniz: nihil est sine ratione
15
. A filosofia a razo, pois trata da essncia
de todas as coisas. Por isso, antes de pensar a essncia ou a definio da palavra "jogo"
preciso "ver" os jogos de tabuleiro, de bola, de cartas, etc.; pois eles no tem nada em
comum que no possa ser visto. O "algo comum" estaria oculto execuo desses jogos e,
15
Ver Heidegger Der Satz vom Grund, , Frankfurt am Main: Vitorio Klostermann, Gesamtausgabe Band
10, 1977.
14
nesse caso, no poderia ser visto. Com isso, se pode entender que eles no se chamam
"jogos" por terem algo em comum. Esse "algo em comum" surge do mau uso da palavra
"jogo". A execuo dessa palavra cede lugar para algo que no tem funo nenhuma na
linguagem. Esse desvio que pretende alcanar a essncia de que fariam parte todos os
jogos se expressa em afirmaes errneas como: "Algo deve ser comum a eles, seno no
se chamariam 'jogos'". A metfora visual contida na palavra de ordem "veja!" empregada
para afastar a tendncia de pensar algo em comum, isto , de ir para trs daquilo que est
mostra no simples ato de ver. O convite para que se "veja" pretende afastar a tendncia
para filosofar, isto , a inclinao para encontrar "algo comum"; isto , pensar buscar
algo que est por trs daquilo que aparece. Porm, a posio do Wittgenstein tardio pode
ser resumida na afirmao: "nada est oculto" (PU 126 e 435)
16
. O critrio no a
justificao, mas a aplicao. O significado do conceito "jogo" no uma essncia oculta
que precisa ser revelada pela explicao filosfica, mas os diversos usos dessa palavra na
linguagem. Ora, a noo de "semelhanas de famlia" outra metfora que visa substituir
o "algo comum" pela apreenso certos aspectos, caractersticas e parentescos entre as
atividades expressas no conceito de "jogo". Esse conceito vago. Os parentescos entre os
diversos usos da palavra "jogo". Os usos afins dessa palavra. A metfora das semelhanas
de famlia ajuda a mostrar (ver) os domnios de tcnicas afins. Ela pretende, portanto,
eliminar o mito do conceito preciso e exato, o mito da linguagem perfeita. O mito
platnico da teoria das idias permanece no mito fregeano do conceito como um distrito
exato. Ou seja, o que Wittgenstein pretende eliminar , como j vimos, a concepo de
que um conceito d conta de objetos, isto , de que o que comum a todos esses objetos
"caem sob esse conceito"
17
. Nessa concepo, o conceito "jogo" corretamente
empregado quando as propriedades de todos os jogos caem sob esse conceito: "jogo". A
noo de semelhanas de famlia se contrape a esse dogma filosfico. No se procuram
razes, mas apenas constatar similaridades e diferenas entre, por exemplo, os jogos de
tabuleiro, com seus mltiplos parentescos. E os jogos de cartas em que muitos dos traos
comuns desaparecem enquanto outros surgem. Tambm nos jogos de bola, muita coisa
comum se conserva, mas muitas se perdem. Compare-se o jogo de que xadrez com a
amarelinha. Um jogo de xadrez pode ser dramtico, mas nada mais tranqilo que um
jogo de amarelinha ou as brincadeiras de roda. E as diferenas entre jogos de esforo
fsico e os de pacincia. Jogos em grupo e jogos em que algum arremete a bola na parede,
etc
18
. E diz Wittgenstein: "E tal o resultado desta considerao: vemos uma rede
complicada de semelhanas, que se envolvem e se cruzam mutuamente. Semelhanas de
conjunto e de pormenor" (PU 66). Ou ainda:
16
E como "nada est oculto", tampouco est a gramtica do pensamento. O pensar tampouco um processo
oculto. A gramtica do pensar tambm libera as outras palavras como "ver", "jogo", etc. de seus
"compromissos ontolgicos". Sobre a gramtica do ver, pensar, representar ver L. Hebeche: O mundo da
conscincia - ensaio sobre a filosofia da psicologia de L. Wittgenstein. Porto Alegre: Edipuc, 2002.
17
E a questo bvia : como os objetos podem "cair sob um conceito"? Como podem objetos tornarem-se
conceitos?
18
Baker e Hacker, op. cit, p. 132, chamam a ateno para a diferena entre as palavras "spielen" e "game"
que podemos estender para palavra "jogo" em portugus, pois, diferentemente de "jogo" e "game", a palavra
"spielen" expressa caractersticas mais amplas e variadas. Por isso, na passagem die Vorgnge , die wir
"spiele" nennen ("os processos que chamamos 'jogos'"). "Spiel" usado como acusativo interno de
"spielen", por isso qualquer atividade pode ser empregada como jogo, como quando uma criana joga uma
bola para o alto ou na parede, tambm so chamados "jogos" ("spielen").
15
No posso caracterizar melhor essas semelhanas do que com a expresso
"semelhanas de famlia"; pois assim se envolvem e se cruzam as diferentes semelhanas
que existem entre os membros de uma famlia: estatura, traos fisionmicos, cor dos
olhos, o andar, o temperamento, etc., etc. - E digo: os "jogos" formam uma famlia (PU
67).
A noo de semelhanas de famlia expressa diferentes habilidades lingsticas ou
o domnio de tcnicas afins; com isso, evita-se o recurso a uma "essncia" que, pelo
pensar, as reunisse sob algo em comum. Ao contrrio v-se certos aspectos, similaridades
e aproximaes. Por exemplo, a complexa trama conceitual do mundo da conscincia no
est reunida pelo e sob o superconceito de pensamento. O conceito de pensar faz parte
dessa rede e no a rene sob si. Os superconceitos surgem quando a linguagem opera no
vazio. Conceitos como "querer", "pensar", "imaginar" tornam-se ento fantasmas mentais,
isto , conceitos filosficos. O modo "como" so usados na linguagem substitudo pelo
"que", ou seja, passam a fazer parte da questo "o que isto?". As explicaes
transformam os conceitos em superconceitos. O objetivo de Wittgenstein , porm,
desfazer a iluso explicativa que est vinculada a esses conceitos. E assim as palavras
"experincia", "linguagem", "mundo" tem um emprego to singelo como as palavras
"lmpada", "mesa", "porta" (PU 97).
Os superconceitos permanecem numa pretensa "linguagem perfeita", isto , no
"ideal de pureza cristalina da lgica". Esse ideal se encontrava na tradio mais prxima
de Wittgenstein, especialmente na obra de Frege e Russel. Essa tradio preserva a noo
do conceito como um distrito preciso, ou seja, de que um conceito retm "o que comum"
a diversos objetos. Uma sentena insaturada como: "A porta ..."., torna-se saturada
(verdadeira) caso um conjunto de propriedades comuns caem sob um conceito, por
exemplo, o conceito "marrom". A diversidade de objetos com tons e caractersticas dessa
cor esto subsumidas no conceito "marrom". A sentena torna-se ento saturada: "A porta
marrom". Ora, essa concepo fregeana de algo comum a vrios objetos que caem sob
um conceito o que Wittgenstein rejeita como concepo agostiniana da linguagem. Ou
seja, ao rejeitar um dos pilares da lgica contempornea ele tambm refuta o
essencialismo em que se forjou a tradio ontoteolgica da metafsica expressa, como
vimos, pelo socratismo na pergunta: "o que isto?".
No entanto, algumas dificuldades parecem surgir quando se considera que a
presena ou ausncia de propriedades comuns poderiam ser obtidas pela simples
observao
19
. Ora, no se trata de "ver" fisicamente os aspectos dos jogos e tampouco se
trata de "conhecer" o que haveria de comum entre eles, mas apenas de descrever
similaridades e distines entre eles. Essa descrio, porm, no de algo que aparece no
campo visual, mas dos usos da palavra "jogo" na linguagem. O significado dessa palavra
no resulta de uma observao visual, pois encontra-se na sua execuo na linguagem.
19
o caso de Baker e Hacker, op. cit., 1983, p.131.
16
"Uma palavra s tem significado na execuo de uma linguagem"
20
. A metfora visual
que acompanha a noo de semelhanas de famlia no pode levar ao engano de que a
esteja presente o ato de ver algo. No se trata de "explicar" o que se observa. No h nada
a ser provado ou justificado. Se a tradio ocidental recorreu metfora da viso para
estabelecer os fundamentos do saber, agora a metfora da viso empregada para desfazer
a iluso gramatical da "nsia por generalidade". Mas, para Wittgenstein, no h
descobertas na gramtica. Por isso, a gramtica limita-se a descrever as funes das
palavras - suas semelhanas - na linguagem. A descrio visa dar conta das sutilezas e dos
aspectos das palavras e no a buscar algo que lhes seja comum. O mtodo das cincias
um prosseguimento da metafsica socrtico-platnica medida que reduz essa diversidade
da linguagem leis mais comuns ou genricas (PU 69, 70, 71). Mas no se pode
explicar o que j est explicito.
A noo de "semelhanas de famlia" foi introduzida por Wittgenstein
possivelmente atravs da leitura de "Geometry in the Sensible World" presente no livro
"Foundations of Geometry and Induction" (1930) onde o matemtico Jean Nicod introduz
essa noo a partir dos dados sensveis. Baker e Hacker
21
, sucintamente, apresentam o
pensamento de J. Nicod sobre esse tema:
a) ele distingue entre semelhana global e as similaridades parciais. O contraste
entre similaridades global e local est presente na discusso dos espaos
topolgicos; e a h o equivalente para o contraste entre similaridades em
"grande escala" (in the large) e similaridade em "pequena escala" (in the
small).
b) Duas coisas podem ser similares em um aspecto mas dissimilar em outro.
Consequentemente, acontece que "duas estruturas sobrepostas ou uma trama de
similaridades cruzam-se uma sobre a outra e arranjam o mesmo dado (sensvel)
em dois modos diferentes".
c) Nicod considera que uma relao particular de semelhana parcial pode formar
o ncleo de um conjunto de relaes formando uma famlia (une famille) sua
volta; isto quer dizer que as relaes de incluso, transgresso e separao
forma uma famlia em torno da "semelhana local".
Porm, nesse resumo da posio de Nicod encontra-se a inclinao que leva a
conceber erroneamente a noo de semelhana de famlia a partir de uma observao do
mundo sensvel. Pois, esse "olhar para algo" que se encontra a origem do teorizar e,
portanto, do modelo objeto-designao. Se a noo de semelhanas de famlia envolve a
metfora do olhar apenas para destacar os aspectos das palavras na linguagem. E
"aspectos" no resultam do ver algo, mas do domnio de tcnicas. As semelhanas de
aspectos de famlia quer dizer um domnio de tcnicas afins. Ou seja, a significao de
20
Wittgenstein, Bemerkungen ber die Grundlagen der Mathematik, Shurkamp, Werkausgabe, Band 6,
1984, p. 344.
21
Baker e Hacker, op. cit, 1983, p. 133, 134. Apesar do destaque que esses autores do crtica do modelo
objeto-designao, ocasionalmente, reincidem na iluso que se encontra no ato de "olhar para algo", como
o caso de ver figuras. Ora, o significado o domnio de tcnicas. Em outras palavras, no h nada externo ao
exerccio da regra de uso das palavras visuais.
17
uma palavra como uma fisionomia (PU 568). E fisionomia quer dizer que no h algo
comum por detrs do que aparece, ou melhor, uma fisionomia envolve certos detalhes
muitas vezes ambguos que esto sempre mostra. S pode apanhar uma fisionomia quem
pode ver aspectos. S se pode compreender a significao de uma palavra quando se pode
apanhar as suas semelhanas de famlia, isto , a fina trama de seus diversos aspectos. A
"cegueira para a significao" falta de domnio tcnico na linguagem. A cegueira para o
aspecto a incapacidade de apanhar os parentescos entre as palavras que constituem
semelhanas de famlia. Mas, ao contrrio de Nicod, com a noo de semelhanas de
famlia Wittgenstein visa afastar a tradio que olha para algo externo, ou para o "mundo
sensvel". A noo de ver aspectos tematizada por Wittgenstein na segunda parte das
Investigaes Filosficas, junto com a de vivncia da significao de uma palavra e da
conhecida figura pato-lebre. A vivncia da significao de uma palavra o domnio de
tcnicas lingsticas e no uma torrente de vivncias intencionais da conscincia
transcendental (Husserl). No entanto, a figura pato-lebre parece re-introduzir a posio de
que "algo visto" e, portanto, a noo de representao mental; isto , a concepo que
erroneamente distingue eventos internos e externos. Ora, Wittgenstein ao rejeitar o "ideal
de exatido" do logicismo retoma a vagueza da linguagem ordinria. Seu objetivo o
oposto do de Frege. A cegueira para os aspectos a cegueira para a significao. Mas
"cegueira para a significao" no um defeito no aparelho ocular, mas a falta de destreza
tcnica. E isso no pode ser confundido como o processo de "ver algo". Os aspectos das
palavras - a significao como fisionomia - so domnios das tcnicas sutis que permitem
apanhar as semelhanas de famlia das palavras na linguagem. A significao destreza
em lidar com as palavras na linguagem.
A noo de semelhanas de famlia tambm pode ser aplicada ao conceito de
nmero, pois esse conceito geralmente entendido desde o "ideal de exatido". A
matemtica ainda hoje considerada como uma cincia exata. O conceito de nmero
concebido como o que h de mais certo, puro e rigoroso. A tentativa de encontrar os seus
fundamentos na lgica d a esta um carter de sublimidade. Ou seja, a lgica tem de
ocupar-se com o que mais rigoroso. Esse "ideal de exatido" vem desde Pitgoras, que
pensava a essncia do cosmos a partir da exatido do conceito de nmero. Desse modo, o
nmero se tornou a maior expresso da razo. Mesmo em Plato, s se chega "Idia"
quando se conhece matemtica. Tambm a moderna fsica galileana obteve seu rigor a
partir da sua conexo com a matemtica. O ncleo da matemtica o conceito de nmero.
E a lgica que Wittgenstein pretende contestar originou-se na busca dos fundamentos da
aritmtica (Frege, Russell, Gilbert, etc.)
22
. Ora, ao contrrio desse "ideal de exatido" da
lgica, o conceito de nmero ser compreendido agora a partir dos seus "ares de famlia".
Como os jogos tambm os nmeros constituem uma "famlia". O que se chama "nmero"
no uma idia geral e abstrata, pois seu significado encontra-se nos parentescos que h
entre conceitos afins como os de nmeros racionais, nmeros pares, nmero de acidentes
de carro, nmero dos atos duma pea de teatro, nmeros dos quadros de Pollock, etc.
Portanto, a "robustez" do conceito de nmero no est em suas rgidas propriedades
22
A crise dessas tentativas fundacionistas est expressa na obra de Gdel. Neste ensaio apenas colocaremos
a posio de Wittgenstein nas PU; sobre as suas objees ao fundacionismo a partir das "Consideraes
sobre os fundamentos da matemtica", voltaremos noutra oportunidade.
18
ocultas, mas nos diversos modos como usado. A matemtica uma habilidade tcnica. O
conceito de nmero o domnio dessas habilidades e no algo comum subjacente a elas. O
conceito de nmero como um fio tecido de fibra com fibra e a sua robustez e
consistncia no esto numa fibra nica que o percorra em toda a extenso, mas no fato de
que essas fibras esto enroladas umas com as outras (PU 67). No h uma fibra que
esteja presente do comeo ao fim, isto quer dizer, no h nada em comum que estabelea a
robustez do conceito de nmero. O interlocutor imaginrio, porm, poderia objetar que o
que h de comum precisamente a disjuno (Disjunktion) de todas as caractersticas
comuns (Gemeinsamkeiten). Ou seja, no ter nada em comum seria o "algo comum". A
resposta de Wittgenstein a de que o seu opositor apenas "joga com uma palavra" (a
palavra "comum"), pois, tambm neste caso, essas caractersticas comuns no dependem
de algo oculto e tampouco a "disjuno" expressaria algo comum subjacente. Aqui est
mais um exemplo do modo errneo no uso da palavra "comum". A questo de como
pode haver algo em comum por no se ter nada em comum. E isso apenas "jogar com
uma palavra" (PU 67). Esse "jogar com a palavra" surge do engano que est em
identificar num conjunto de objetos (nmeros, cadeiras, mesas, etc.) algo que lhes seja ou
no comum. A disjuno o contrrio da conjuno, mas as caractersticas do conceito de
nmero no esto na sua identificao num domnio de objetos como aquilo que falta
neles. O noo que o comum o que no comum num conjunto de objetos a face
oposta da mesma moeda, que leva a pensar dogmaticamente a falta de algo em comum por
oposio a algo em comum. Mas, como vimos, o conceito de nmero uma execuo, ou
seja, um aglomerado de usos afins.
Wittgenstein vai de encontro tradio platnica que se estende moderna anlise
lingstica, cujo dogma principal o de que um conceito impreciso no um conceito.
Ora, mesmo o conceito de nmero no tem limites precisos. O conceito de nmero deixa
ento de ser uma soma lgica de sub-conceitos bem definidos (nmero cardinal, nmero
racional, nmero real, etc.). Essa soma lgica, porm, no pode ser considerada em termos
de caractersticas comuns de todos os nmeros, pois no h limites precisos para os usos
dos conceitos de "jogo", "planta", "azul" e "nmero" na linguagem. Os limites no so
precisos ou exatos porque no so definidos por nenhuma generalidade que estabeleceria o
que h de rigorosamente comum a todos. Esse "essencialismo" a ocultao metafsica da
gramtica da linguagem. Pode-se obviamente determinar limites precisos entre os nmeros
racionais e os irracionais, mas essa habilidade tcnica apenas mais um exemplo da
diversidade de empregos do conceito de nmero.
A posio que destaca a vagueza do conceito de nmero provoca resistncia por
que vai de encontro a tradicional concepo que na matemtica as regras so precisamente
delimitadas, pois se as diversas aplicaes do conceito de nmero forem vagas e
imprecisas ento no se poderia distinguir a relevncia desse conceito dos outros conceitos
como o de "justia", "dor", "medo", "alegria", etc. Mas a vagueza no um obstculo para
a compreenso. Alis, a noo de compreenso tambm vaga. o "ideal de pureza" que
tende a substituir a vagueza pelo "algo em comum", isto , pela busca de uma
fundamentao lgica do conceito de nmero. Os conceitos de nmero, jogo, folha, azul,
etc. precisam ser afastados da "nsia de generalidade" que se encontra na procura da
regularidade e da preciso. O conceito de nmero se diferenciaria dos outros por ser
essencialmente o que h de mais regular, mas, como estamos mostrando, seu significado,
19
como o de todos os outros conceitos, se encontra em suas diversas aplicaes.
Wittgenstein responde objeo de falta de regularidade:
"Mas ento o emprego da palavra no est regulamentado: o 'jogo' que jogamos
com ela no est regulamentado". Ele no est limitado por regras; mas tambm no h
nenhuma regra do tnis que prescreva at que altura permitido lanar a bola nem com
quanta fora; mas o tnis um jogo e tambm tem regras" (PU 68).
A aplicao de um conceito na linguagem segue regras, mas o que se pretende
afastar o mito objetivista da regularidade da regra posta fora da sua aplicao. Esse mito
da meta-regularidade da regra o platonismo, ou seja, o esssencialismo que est para alm
da execuo de seguir regras, e, ao contrrio, tenta definir a regra por uma outra regra que
seja a sua essncia, a sua razo de ser. Ora, esse "essencialismo" o que oculta a execuo
da linguagem, mesmo a linguagem da matemtica. O mito do platonismo est no "ideal de
exatido" da regra, esse ideal coloca-se, fora da regra, numa super-regra, ou melhor, num
superconceito: "a Idia", a "razo", o "cogito", etc. Os superconceitos ocultam que "a
palavra 'conceito' vaga". Como se poderia estabelecer a exatido do conceito de nmero
se o prprio "conceito" um conceito vago? Com isso, Wittgenstein ataca a sublimidade
da lgica que, desde a antigidade, reteve o ideal de exatido do pensamento, ou seja, de
Parmnides a Frege, pensar sempre pensar logicamente. Mas o conceito de pensar
tambm vago. A "nsia de generalidade" vincula o conceito de pensamento com um
ideal posto alm da linguagem ordinria. Wittgenstein, porm, insiste na posio que
preserva a autonomia da gramtica frente ao ideal de perfeio. Esse ideal seria um "leito
de Procusto" da gramtica se no fosse apenas uma iluso gramatical, pois no preciso
do parecer de um lgico para a compreenso de palavras ou frases na linguagem. Ou seja,
nenhuma regra que estabelea o valor de verdade de uma sentena pode fixar o seu
significado. Como os significados de palavras como "mesa", "cadeira", "nmero", "jogo",
etc. so os seus diversos usos na linguagem, nenhuma regra de clculo lgico poderia
estabelec-los de fora. E o que vem a ser isso seno a tentativa de fixar o significado, ou
seja, de preencher a demanda por definies completas para cada palavra. Esse o
programa da anlise lgica da linguagem, mas essa "nsia de generalidade" uma iluso
gramatical medida que a definio completa de cada palavra seria um processo
interminvel e intil. o caso da palavra "poltrona" e as variadas circunstncias em que
pode ser usada. As regras desses usos no so externas a eles. Isto , "no estamos
equipados com as regras de seu emprego" para s ento podermos aplic-las. Essas
"regras prontas" - como as regras inferenciais dos clculos dos enunciados ou dos
predicados - nos escapam quando usamos (verschwinden) a palavra "poltrona". Mas se
no temos essas regras prontas para serem aplicadas e se no estamos equipados com
regras para todas as possibilidades de emprego (Gebrauch) da palavra "poltrona", isto no
quer dizer que "no ligamos a esta palavra nenhuma significao" (PU 80)
23
. E essa
significao no definida pelo que haveria de comum palavra "poltrona", mas pelas
semelhanas de famlia que ela tem na linguagem. As regras do clculo lgico levaram F.
P. Ramsey afirmar, numa conversa com Wittgenstein, que a lgica uma "cincia
23
Sobre a diferena entre "emprego" (Anwendung ou Verwendung) e "uso" (Gebrauch), ver Newton Garver,
This Complicated Form of Live - Essays on Wittgenstein, Open Court, Illinois, 1994, pp. 54 ss. e pp. 197 ss..
20
normativa" (PU 81). Essa concepo normativa da lgica a mesma que leva a iluses
gramaticais em que se a afirma coisas do tipo: "A linguagem (ou pensamento) algo
nico" (PU 110). Ou seja, essa afirmao tem o aspecto de que, em filosofia, se est
tratando de algo sublime e profundo, de super entidades como a linguagem, o pensamento,
a vontade, o ser, a lgica, etc. Mas a "profundidade" filosfica aqui uma metfora que
tambm expressa o caracter normativo da lgica enquanto "linguagem ideal".
Uma metfora que incorporada s formas da nossa linguagem causa uma falsa
aparncia; esta nos inquieta: "No assim!" - dizemos. "Mas preciso que seja assim!"
(PU 112).
E ainda:
" assim" - no paro de repetir. como se eu devesse apreender a essncia da
coisa, como se eu pudesse fixar agudamente esse fato e situ-lo no foco de meu olhar (PU
113).
A constante repetio " assim!" est na origem mesma do carter normativo da
lgica. a iluso gramatical que vincula o pensamento e a lgica como atividades,
instncias ou processos sublimes e que tambm levou o jovem Wittgenstein a conceber
que quem pronuncia uma sentena e quer dizer (meint) algo com ela, ou a compreende
(versteht), tem que empregar, para isso, um clculo com regras determinadas. Mas isso se
deve, como ironicamente afirma o Wittgenstein tardio, a "que ns, especialmente em
filosofia, comparamos (vergleichen) freqentemente o uso das palavras com jogos, com
clculos segundo regras fixas", isto , podemos comparar os diferentes modelos ou jogos
de linguagem em que se pode compreender o significado das palavras; pode-se mesmo
reconhecer que os clculos lgicos tenham certas funes e que, portanto, certas palavras
tenham a um certo sentido, mas tais comparaes "no nos autorizam a dizer que quem
emprega a linguagem deva (msse) jogar um s jogo". Ao contrrio, essas comparaes
entre diferentes jogos ou modelos liberam a linguagem do carter normativo da lgica.
Portanto, quando se entende que nossa expresso lingstica ordinria apenas se aproxima
desses clculos, isto , quando comparamos a linguagem ordinria com as regras
determinadas do clculo lgico, ento "nos encontramos beira de um mal-entendido
(Missverstndnisses)". Essa comparao ento errnea medida que tenta corrigir a
execuo imprecisa da linguagem ordinria atravs de uma linguagem feita de regras mais
definidas. O "carter normativo" da lgica faz com que quando se fala dela est-se
tratando de uma linguagem ideal (idealen Sprache). Essa linguagem deslizaria num meio
que no ofereceria nenhuma resistncia, destacada da execuo ordinria, deslizaria ento
no vazio. A sublimidade da lgica - enquanto linguagem ideal - existiria apenas num meio
inefvel. Ou seja: "Como se nossa lgica fosse, por assim dizer, uma lgica para o vcuo
(lufteeren Raum)". No entanto, se a lgica se confunde com o pensamento, ou melhor, se
desde Parmnides, o ser se confunde com o pensar, para Wittgenstein agora, a lgica no
trata da linguagem ou do pensamento do mesmo modo com que a cincia natural trata dos
fenmenos fsicos. No TLP, ele afirmara que "a lgica no uma teoria, mas uma imagem
que espelha o mundo. A lgica transcendental" (TLP 6.13), que "As proposies da
lgica no dizem nada. (So proposies analticas)" (TLP 6.11) e, embora afirme: "O
sinal proposicional empregado, pensado o pensamento (TLP 3.5), tambm afirma que
21
"A linguagem (ordinria) disfara o pensamento" (TLP 4.002) e ainda se propunha o
"esclarecimento lgico dos nossos pensamentos"; agora, porm, ele reconhece que a
lgica no est habilitada a tratar nem do pensamento e nem de si mesma. A lgica como
"cincia normativa" substituda pela autonomia da gramtica. a gramtica que trata do
"pensamento", ou seja, do modo como esse conceito usado na linguagem; a partir dela
que Wittgenstein afirma: "no mximo pode-se dizer que construmos (konstruirten)
linguagens ideais". Com essas linguagens, porm, se pretende ento comparar o que se
pensa e o que se diz na linguagem ordinria, isto , se pretende corrigir a linguagem com
clculos lgicos que poderiam ento livr-la das ambigidades e imprecises; desse modo,
o que "construdo" se torna um ideal que oculta sua origem: "a nsia de generalidade". A
construo de uma "linguagem ideal", por conseguinte, no o estabelecimento de
nenhuma essncia que poderia ser elucidada por uma anlise da linguagem. A palavra
"ideal", porm, est contaminada pelo platonismo, e, por isso, ela pode "induzir ao erro,
como se estas linguagens fossem melhores, mais completas que nossa linguagem comum
(Umgangsprache), como se fosse necessrio um lgico para mostrar finalmente aos
homens a caracterstica de uma frase correta" (PU 81 ver melhorar a traduo). A
compreenso de uma frase no se precisa do salvo conduto da lgica, ou seja, que para
compreend-la se tenha, antes, de submet-la a um clculo com regras determinadas.
Wittgenstein no nega que se possam comparar modelos ou jogos de linguagem, ao
contrrio, ele procura evitar o erro de que apenas um modelo se torne a medida ideal de
comparao. O modelo assumiria ento um carter normativo. Essa iluso gramatical ser
evitada quando forem descritas as funes lingsticas dos conceitos de compreender
(verstehen), querer dizer (meinen) e pensar (denken). Trataremos deles noutra
oportunidade.
A crtica da comparao entre os usos das palavras na linguagem ordinria e as
regras determinadas do clculo pode todavia lanar luzes sobre o que est aqui em
questo. Como se pode saber se algum realmente est empregando essas regras
definidas? Teria ele algum comportamento caracterstico a partir delas? Como se d,
enfim, a sua relao com essas regras? Essas regras poderiam definir o comportamento de
um autmato, mas qual a natureza da relao entre as regras e aquele que as aplica? Mas o
uso das palavras na linguagem no tem nada automtico. Para melhor distinguir a vagueza
das palavras na linguagem da tentativa de enquadr-las segundo clculo com regras
definidas, Wittgenstein novamente recorre analogia com os jogos. Aquele que participa
de jogos se comporta segundo as regras desse jogo, assim as regras do futebol se
distinguem das do basquete ou de tnis. Num jogo de xadrez, os movimentos do bispo so
distintos da torre, dos pees e da rainha; no entanto, nada impede que se invente a partir
dessas regras novas regras e, com isso, um outro tipo de jogo, nada impede que pessoas,
num campo de futebol, comecem jogos diferentes, por exemplo, limitando-se a apenas
chutar em gol, que possam contornar o campo cabeceando ou fazendo embaixadas, podem
jogar-se a bola uns nos outros apenas por brincadeira, etc. Nesse caso, foram fazendo
novas regras: make up the rules as we go along (PU 83). Assim tambm opera a
linguagem, esse operar, porm, no segue regras determinadas externamente. Noutra
oportunidade Wittgenstein dir que a diversidade de emprego das palavras como um
22
"torvelinho"
24
. A "analogia" com o comportamento dos jogadores, serve para salientar a
sua posio principal, de que as regras da linguagem so autnomas e isso que as
distingue das regras exatas do clculo lgico. Essas ltimas so regras externas que
pretendem corrigir aquelas. A linguagem, porm, no um caos; e o ponto central o de
que as regras da gramtica no dependem de nenhuma cincia normativa.
Para situar melhor a sua objeo Wittgenstein retoma a errnea noo objetivadora
da regra ao indagar: "O que chamo de 'regra segundo a qual ele procede'?" (PU 82).
Dessa noo surgem algumas respostas do tipo: 1) a hiptese que descreve o uso das
palavras por ns observado; 2) a regra que ele consulta ao usar os signos; 3) a que nos d
como resposta, quando perguntamos sobre qual a sua regra. Essas respostas, porm, so
concebida da noo errnea que leva a vincular-se comportamento e regra determinada.
Ou seja, a resposta 1 mantm uma relao externa entre o uso das palavras e a observao
de quem as profere; a resposta 2 diz respeito a que algum dispe de uma regra para se
certificar do seu uso dos signos lingsticos, ou seja, novamente uma regra externa ao uso
das palavras; e a resposta 3 a prpria resposta de algum, isto , a resposta uma
explicao da regra e no a prpria regra. Ora, essas respostas esto concebidas em iluses
gramaticais. Todas elas tentam externamente dar conta da vagueza da linguagem. Quando
se pergunta "o que voc compreende por N"? A resposta no dada a partir de uma
consulta a regras determinadas. O interlocutor pode dar vrias explicaes, mas, para isso,
no precisa recorrer a uma ou a um conjunto de regras fixas. Para exteriorizar a sua
resposta o interlocutor no precisa fazer um curso de lgica. Wittgenstein termina a seo
82 novamente indagando: "o que poderia significar aqui a expresso (Ausdruck) 'regra
segundo a qual ele procede'?" Ora, a ambigidade da linguagem - a nsia de
generalidade - que leva pergunta sobre, afinal de contas, qual a regra segundo a qual
fulano fala, mas a geralmente se cai na iluso de que deve haver regras fixas para o seu
comportamento e de que podemos observar o uso das suas palavras, mas como se poderia,
pela observao, reconhecer uma regra e como uma pergunta poderia trazer uma regra
luz?
A analogia com os jogos permite afastar o uso das palavras na linguagem com
regras rigorosas. Na linguagem palavras no so usadas de modo catico, pois quem
confunde as palavra "verde" e "azul" ou as expresses "dor de cabea" e "dor de cotovelo"
mostra que no domina o uso dessas palavra, que no compreende a trama da linguagem.
As palavras tem funes na linguagem que no podem ser confundidas, assim como no
se pode confundir, no jogo de xadrez, os movimentos do bispo e da torre, ou, os modos de
arremessar a bola nos jogos de basquete e vlei, etc. No entanto, esses jogos,
constantemente, do lugar a dvidas, o jogador estava ou no impedido, porque ele no
fez tal ou qual movimento, o rbitro viu ou no viu a falta, houve uma invaso do campo
adversrio, a bola caiu na risca ou fora dela, etc. Por isso, indaga Wittgenstein, "que
aparncia teria um jogo inteiramente limitado por regras? Regras que no do lugar a
nenhuma dvida e que lhe fechem todas as lacunas" (PU 84). Essas regras seriam da
24
Como pode ser descrito o comportamento humano? Certamente apenas esboando as aes de uma
variedade de homens, enquanto elas esto misturadas umas com as outras. O que determina nossos juzos,
nossos conceitos e reaes, no o que um homem faz agora, uma ao individual, mas todo o torvelinho
(hurly-burly) das aes humanas, o pano de fundo contra o qual ns vemos qualquer ao (Zettel, 567).
23
mesma natureza das que pretendem corrigir a vagueza das palavras na linguagem, elas
pretendem abolir todas as dvidas geradas por essa impreciso. Iluses gramaticais
rondam a palavra "dvida". A posio que pretende "abolir dvidas" parte do socratismo,
ou melhor, da tentativa de elucidar o que uma coisa. A pergunta pela coisa epistmica -
a "nsia por certeza". Esse conjuntos de regras dariam, para as palavras, uma certeza que
no se encontra na linguagem ordinria. E isso que leva a "imaginar uma regra que
regule o emprego da regra", pois tambm podemos "imaginar" uma dvida levantada por
tal regra; ora, aqui temos uma verso subjetiva do platonismo, pois no duvidamos porque
podemos "imaginar" uma dvida. Ou seja, imaginar uma regra ou duvidar dela no so
processos (subjetivos) externos ao uso efetivo das palavras na linguagem. As palavras
"imaginar" e "duvidar" no se referem a processos mentais. As suas regras de uso na
linguagem so autnomas. As suas diversas funes na linguagem ordinria tampouco
originam ou dependem de uma meta-regra corretiva. Portanto, no se est eliminando as
regras da gramtica, mas apenas afastando a iluso essencialista das regras do clculo
lgico. Para estabelecer melhor a distino entre elas, Wittgenstein afirma que "uma regra
est a (steht da) como um indicador de direo (Wegweiser/signpost)" (PU 85). A
comparao da regra de uso com indicadores de direo (poste, bandeia, sinaleira, etc.)
serve para mostrar como no h apenas uma interpretao, ou seja, uma meta-regra que
poderia explicar o funcionamento das palavras na linguagem. Um indicador de direo
poderia deixar "dvidas" sobre que rumo se deveria seguir, ou ainda a viso de um
indicador de direo no deixaria subsistir nenhuma dvida, poderia tambm, algumas
vezes, deixar dvidas e outra vezes no. Ora, isso pressuporia que toda vez que a gente se
depara com um indicador de direo ter-se-ia uma atitude cognitiva que teria de afastar
esse tipo de dvidas. No entanto, essas dvidas surgem a partir do emprego do indicador
de direo e no o contrrio. E esse emprego, porm, no um "ideal de exatido", esse
ideal o mito intelectualista, ou como vimos, a precisa delimitao do distrito (Frege),
que pretende fornecer apenas uma interpretao correta. A gente pode enganar-se e, ao
invs de dobrar esquerda, dobrar direita, ao invs de adentrar na mata, seguir para a
montanha, ao invs de entrar no bairro Petrpolis, seguir adiante, etc. Mas apenas quem j
domina a tcnica do indicador de direo pode errar ou ter dvidas a seu respeito, mas tais
dvidas, porm, dependem do domnio dessa tcnica e no podem ser corrigidas por
apenas "uma interpretao". Ou melhor, toda interpretao do indicador pressupe o
emprego do indicador. Operar com o indicador no saber ou interpretar como se lida
com ele. E, muito menos, interpret-lo de modo unilateral. Como saber que direo se
deve tomar no depende de informaes adicionais ao emprego do indicador de direo,
pois todas as informaes dependem dele. Nesse domnio tcnico, segue-se uma regra, e
no se necessita de uma regra que a posteriori venha a eliminar as dvidas. A regra no
ento empregada para corrigir uma ao, pois os diferentes modos de agir j so as aes
de seguir regras. Wittgenstein antecipa aqui o tema de seguir regras que desenvolver
alhures (PU 185 a 246), onde pretende mostrar a diferena entre a ao conforme a
regra e a aquela que a concebe como interpretar a regra
25
. Agir conforme a regra se situa
no domnio de uma certa execuo, ou melhor, de que a noo de seguir regras
inseparvel da de aprendizagem de uma maneira de agir: "As interpretaes no
determinam sozinhas a significao". No caso do indicador de direo: "fui treinado para
25
Schulte, J. Lire Wittgenstein - Dire et montrer. Paris: Editions de L'clat, 1992, p. 135.
24
reagir de uma determinada maneira a este signo e agora reajo assim" (PU 198). Do
mesmo modo, a compreenso do uso das palavras na linguagem tampouco depende de
elucidaes ou informaes adicionais, pois o "saber qu" pressupe o "saber como", ou
melhor, ainda nas palavras de Ryle, "saber como fazer no saber como dizer como
fazer"
26
. As elucidaes chegam a um fim. Esse fim, porm, a execuo da linguagem e
no uma fundamentao que possa dirimir as dvidas. Como vimos, o uso da palavra
dvida no diz respeito a uma carncia de elucidao. A dvida no uma brecha
existente no fundamento e que poderia ser supressa por elucidaes, ou seja, a filosofia da
linguagem concebida a partir do cartesianismo: "uma compreenso segura possvel
apenas quando primeiramente duvidamos de tudo aquilo que pode ser duvidoso e
afastamos ento todas essas dvidas". Essa a iluso que pretende encontrar os
fundamentos da linguagem. As descries definidas visariam, por exemplo, dar conta de
um nome prprio como "Moiss", ou "Aristteles", etc. Mas, como na sentena "O solo
est coberto de plantas", ter-se-ia de definir cada um de seus termos, e isso seria um
procedimento interminvel: "Sim, essas questes no teriam fim, se chegssemos a
palavras como 'vermelho', 'escuro', 'doce'." (PU 87). Pode-se, obviamente, "dar
explicaes" quando, por exemplo, algum pede uma melhor orientao no trnsito, na
Inglaterra os carros andam do lado esquerdo da rua, precisamos dessas informaes para
dirigir l, etc. Porm, a procura por descries exatas - a anlise lgica da linguagem -
pode levar a enganos expressos em perguntas do tipo: "Mas ento como uma elucidao
ajuda-me a compreender, se ela no for a ltima? Ento a elucidao nunca se completa;
no compreendo e nunca compreenderei o que ele quer dizer!". Pode-se defender uma
lgica em que nunca se ter elucidaes completas, mas o objetivo de Wittgenstein,
afastar toda a elucidao que, desde fora, pretende corrigir a execuo da linguagem. No
entanto, freqentemente essa "nsia de generalidade" ou "procura por fundamentos"
invoca o platonismo medida que, sem apoio seguro, uma "elucidao parece pairar no
ar". Paradoxalmente, a tentativa de fundamentao filosfica que, a sim, levar a
linguagem a funcionar no vazio: as iluses gramaticais. A meta-regra, porm, est
afastada. O significado das palavras ou das sentenas dependem das suas funes na
linguagem. Do mesmo modo, "o indicador de direo est em ordem quando, em
condies normais, preencher sua finalidade" (PU 87)
27
.
A
26
Segundo G. Ryle: Descrever o modo de emprego de uma expresso no exige e, de hbito, no encontra
auxlio em informaes a respeito da predominncia ou no dessa maneira de empreg-la. Como muitas
outras pessoas, o filsofo, com efeito, h muito aprendeu como empreg-la ou como manipul-la, e o que
ele est tentando descrever exatamente aquilo que ele prprio aprendeu. Ver Linguagem Ordinria, So
Paulo: Abril Cultural, 1975, p. 51.
27
Norman Malcolm, retoma o exemplo do indicador de direo (sign-post) dos 85 e 87 das PU, mas, para
distingui-lo da doutrina do Tractatus que A proposio mostra seu sentido. A proposio mostra como
esto as coisas se for verdadeira. E diz que esto assim (TLP 4.022). Com isso, ao invs de comparar o
indicador de direo com a regra, ele o comparar com a proposio. Malcolm afirma: "Um indicador de
direo no pode apenas ser 'comparado' com uma proposio: ele uma proposio". Segundo o TLP, um
motorista que se dirige para Dover pode encontrar um sinal de trnsito que indique que deve dobrar
esquerda ou direita, mas tambm um guarda de trnsito pode apontar com o dedo e dizer "Dover est
naquela direo". O signo proposicional pode ser feito de cadeiras, mesas, gestos, postes, sinaleiras, etc.
desde que seus constituintes estejam arranjados de um certo modo, pois esse arranjo o sentido da
proposio (TLP 3.1431). E compreendemos o sentido da proposio sem que ele nos tenha de ser
explicado, isso que Wittgenstein entende por "A proposio mostra o seu sentido". E compreendemos
(verstehen) o signo proposicional sem que ele nos tenha sido explicado (TLP 4.02). A proposio uma
25
Com isso, afasta-se a noo de que a linguagem ordinria possa ser corrigida pelas
regras do clculo lgico. Essas regras fazem parte da noo de que uma linguagem mais
figurao da realidade: pois sei qual a situao por ela representada, se compreendo a proposio. E
compreendo a proposio sem que seu sentido me tenha sido explicado (TLP 4.021). A compreenso de
uma proposio, neste caso, tampouco depende de elucidaes. O que pode ser dito s porque pode ser
mostrado pode ser dito, mas ento: O que pode ser mostrado, no pode ser dito (TLP 4.1212). No entanto,
Malcolm chama a ateno para a diferena crucial ente as PU e o TLP. No TLP, essas proposies so
completamente genricas, elas dizem respeito a todas as proposies, em todas as circunstncias. O TLP,
seguindo a concepo do atomismo lgico, tambm sustenta que, ainda que no haja explicaes para o
sentido (sense) do signo proposicional, tem-se, deve-se (must) explicar o significado (meaning) das partes
que o compem. Um nome corresponde a um objeto, se isso no fosse assim a linguagem no seria possvel.
Portanto: Compreender uma proposio significa saber o que o caso se ela for verdadeira. (Pode-se,
porm, compreend-la e no saber se verdadeira.) Compreende-se uma proposio quando se
compreende suas partes constituintes (4.024). Essa, porm, tambm uma tese bastante geral. Ela o centro
da concepo figurativa da proposio. E se aplica tanto s proposies elementares e no elementares.
Segundo o TLP, o sinal de trnsito Dover um signo proposicional constitudo de duas partes, o nome
"Dover" e uma seta apontando para o lado; nesse caso, para compreender esses dois constituintes
suficiente para compreender o sentido do signo proposicional. No 85 das PU, porm, como vimos, a
compreenso no to simples, pois o indicador de direo - o nome "Dover" e a seta - "mostra em que
direo devo seguir quando passo por ele; se pela rua, pelo atalho ou pelos campos?... Haveria ento apenas
uma interpretao?". Ora, isso faz com que as vezes haja ento lugar para dvidas, que podem ser afastadas
por um guarda ou um morador da regio. Ou seja, o signo que indica a direo compreendido em certas
circunstncias. A gente pode perder-se em meio aos sinais de trnsito (imagene-se numa dessas complexas
rtulas das grandes rodovias). Isso no quer dizer que Wittgenstein esteja apelando para uma meta-
linguagem, mas apenas reabilitando o uso comum da palavra "dvida", isto , de que a compreenso de uma
regra envolve vrias habilidades, que elas no so externas regra, mas que fazem parte da sua execuo.
No TLP, ao contrrio, qualquer dvida sobre a compreenso dos constituintes do signo proposicional
inviabilizaria a compreenso da proposio. A dvida, ento, abriria uma brecha nos fundamentos, pois,
para Malcolm, o TLP, "assumiu uma posio extraordinria de que no h dvida alguma sobre o sentido do
signo proposicional se a gente compreende o significado das suas partes constituintes. J no comeo a
dvida foi excluda". Da porque, para ele, "a diferena entre o TLP e as PU muito clara e de imensa
importncia. No Tractatus o pensamento de Wittgenstein estava dirigido para a (im)possibilidade lgica da
dvida. Se fosse logicamente possvel para uma pessoa que compreendesse as partes constituintes de uma
sentena ter uma dvida quanto ao sentido da sentena, ento todo o pensamento e a linguagem seriam
impossveis. A dvida no deve provocar estranheza (creep) em lugar algum; pois se isso ocorresse ela
reapareceria em qualquer tentativa de remov-la. A dvida quanto ao sentido do signo proposicional deve
ser logicamente excluda! No entanto, a atitude de Wittgenstein nas Investigaes totalmente diferente.
No faz sentido supor que a dvida quanto ao sentido do signo proposicional poderia ser logicamente
excluda". Ver Norman Malcolm, Wittgenstein: nothing is hidden. Oxford: Basil Blackwell, 1989, p. 83 ss.
Wittgenstein exemplifica o funcionamento de uma regra com um indicador de direo, Malcolm, porm,
afirma que o indicador de direo uma proposio. E essa a sua dificuldade medida que pretende
afastar da doutrina do TLP, mantendo, porm, a noo da materialidade do signo proposicional; ora, essa
noo provm da concepo figurativa da proposio. A concepo da "materialidade do signo"
substituda pela de uso das palavras na linguagem ordinria. Malcolm retoma a ambigidade e a dvida no
ato de seguir a regra, mas correndo o risco de afastar a regra da sua aplicao, pois o sinal de trnsito aponta
para onde se deve seguir "Dove", mas as regras da linguagem no apontam para lugar nenhum. Poder-se-ia
dizer que "apontar" aqui apenas uma das habilidades da linguagem, mas a compreenso de um simples
sinal de trnsito envolve a complexa trama da linguagem onde, alis, a palavra dvida pode ter vrias
funes. Os signos lingsticos no tem seus significados fora de seus usos na linguagem. A gramtica no
aponta para fora de si. O exemplo do indicador de direo e a dvida sobre que direo se deve seguir serve
para mostrar que a gramtica da palavra "compreenso" envolve tambm o domnio da palavra "dvida",
mas essa palavra no se refere a um evento mental externo regra de seu emprego. A palavra "dvida" faz
parte da gramtica da compreenso, mas esta no superconceito. O significado de "compreenso" so os
seus usos na linguagem. A palavra "compreenso" faz parte da gramtica da dvida. E assim por diante.
26
perfeita substituir as ambigidades da nossa forma comum de expresso. No entanto,
paradoxalmente, essa linguagem que se pretende mais eficiente a mais vazia de
significao. Pretendendo ser uma operao que segue regras mais exatas, acaba por
operar no vazio. Isso lembra a "metfora da pomba" de Kant contra o dogmatismo da
metafsica; a pomba cr que quanto mais alto subir, mais fcil ser seu vo, no entanto,
quanto mais rarefeita se torna a atmosfera, mais difcil se torna voar. Ora, de modo
parecido, Wittgenstein pretende afastar-se do ideal de exatido expresso na pureza
cristalina da lgica, pois tambm "essa exigncia ameaa tornar-se algo vazio". A palavra
de ordem : "Retornemos ao solo spero"
28
. As iluses da razo tambm so iluses
gramaticais. A palavra "ideal" envolve-se, constantemente, com as iluses do platonismo e
a sua "nsia por exatido", como em expresses do tipo "idealismo emprico", "idealismo
transcendental", etc. Mas a gramtica como uma terapia, ela visa desfazer as iluses que
pretendem corrigir as regras da linguagem por meio de regras de clculo precisas e
externas a elas. O objetivo agora afastar um ideal externo capaz de contrastar-se s
regras da linguagem e, portanto, remover as opinies errneas a respeito da diversidade de
uso das palavras; isto , um ideal, a partir do qual, se pudesse estabelecer rigorosamente os
limites desses usos (PU 71). Tudo isso, porm, no elimina as diversas funes das
palavras "ideal", "perfeito", "imperfeito", "regular", irregular". Essas palavras deixam de
situar-se fora de seus usos efetivos na linguagem. Os significados dessas palavras esto
vinculados a certos objetivos, em distintos jogos de linguagem, como, por exemplo,
quando se marca um encontro para almoar, ou uma reunio do departamento de filosofia
no se chama um colega ou um amigo de relapso porque ele se atrasou um segundo ou um
minuto; diferente, por outro lado, medir com preciso a trajetria de uma partcula
atmica ou de um satlite. Se eu no indicar ao marceneiro a largura da mesa de 0,001
mm. se poder cham-lo de "inexato"? Ora, aqui ser pontual - exato - para a reunio ou
para o almoo distinto da preciso dos instrumentos astronmicos ou do laboratrio de
fsica. Portanto, a "exatido" tampouco seria algo "intil", pois ela depende do objetivo em
que empregada. Da porqu: "Um ideal de exatido no est previsto; pois no sabemos
o que devemos nos representar por isso - a menos que voc estabelea o que deve assim
ser estabelecido. Mas ser-lhe- difcil encontrar tal determinao; uma que o tranqilize"
(PU 88). A noo de semelhanas de famlia visa afastar as iluses que um ideal, uma
essncia, possa dar conta das ambigidades da linguagem. O ideal de exatido surge da
"nsia de generalidade"; para evit-lo: "No pense, veja!".
28
Quanto mais exatamente consideramos a linguagem de fato, tanto maior tornar-se o conflito entre ela e
nossas exigncias. (A pureza cristalina da lgica no me foi simplesmente dada (ergeben), mas foi uma
exigncia.). O conflito torna-se insuportvel: a exigncia ameaa tornar-se algo vazio. - Camos numa
superfcie escorregadia onde falta o atrito, onde as condies so, de certo modo, ideais, mas onde por esta
mesma razo no podemos mais caminhar; necessitamos ento do atrito. Retornemos ao solo spero! (PU
107).
Você também pode gostar
- Heidegger Urgente, GIACCOIA, O.Documento74 páginasHeidegger Urgente, GIACCOIA, O.Bruno Kinoshita100% (4)
- A Negação - Sigmund FreudDocumento92 páginasA Negação - Sigmund FreudJoaoHenrique1Ainda não há avaliações
- 1.+Psicologia+Aplicada+a+Enfermagem+ +2010.2Documento94 páginas1.+Psicologia+Aplicada+a+Enfermagem+ +2010.2Socorro MatosAinda não há avaliações
- EneagramaDocumento29 páginasEneagramaSara Coutinho VarinoAinda não há avaliações
- Habermas - o Discurso Filosofico Da ModernidadeDocumento275 páginasHabermas - o Discurso Filosofico Da ModernidadeOdair NeitzelAinda não há avaliações
- Deleuze - BergsonismoDocumento74 páginasDeleuze - BergsonismoITALO100% (3)
- Bottomore e Nisbet - História Da Análise SociológicaDocumento468 páginasBottomore e Nisbet - História Da Análise SociológicaRaphael Silveiras75% (4)
- Ncon10 Testeaval Acao2Documento2 páginasNcon10 Testeaval Acao2JoanaAinda não há avaliações
- Subjetividade SubjetivacaoDocumento8 páginasSubjetividade SubjetivacaoJuliana ChalubAinda não há avaliações
- Mimesis e Modernidade - Luiz Costa LimaDocumento154 páginasMimesis e Modernidade - Luiz Costa LimaJuliana ChalubAinda não há avaliações
- Linguagem e Afasia Uma Abordagem Discursiva Da NeurolinguisticaDocumento31 páginasLinguagem e Afasia Uma Abordagem Discursiva Da NeurolinguisticaJuliana ChalubAinda não há avaliações
- Memoria AprendizagemDocumento4 páginasMemoria AprendizagemJoão Paulo S. SpindolaAinda não há avaliações
- Santo Tomás de Aquino - Razão A Serviço Da Fé - Pesquisa Escolar - UOL EducaçãoDocumento3 páginasSanto Tomás de Aquino - Razão A Serviço Da Fé - Pesquisa Escolar - UOL Educaçãominick_dnmAinda não há avaliações
- Ética Do Cuidado - IdosoDocumento0 páginaÉtica Do Cuidado - IdosoodlincesarAinda não há avaliações
- A Epistemologia Genética de Jean PiagetDocumento102 páginasA Epistemologia Genética de Jean PiagetNelma FelippeAinda não há avaliações
- A Joia Suprema Da Discriminação (Revisão de 02-2019) PDFDocumento160 páginasA Joia Suprema Da Discriminação (Revisão de 02-2019) PDFJackson A. PiresAinda não há avaliações
- Cap. 2 A SituaçãoDocumento6 páginasCap. 2 A SituaçãoTarik SilvaAinda não há avaliações
- Realismo, Nominalismo e ConceitualismoDocumento24 páginasRealismo, Nominalismo e ConceitualismoAlexandre Girão100% (1)
- Plotino e A Imagem de Ser HumanoDocumento26 páginasPlotino e A Imagem de Ser HumanoPedro AssisAinda não há avaliações
- Da Cibernética À Teoria Familiar SisteêmicaDocumento33 páginasDa Cibernética À Teoria Familiar SisteêmicaJessica TuanneAinda não há avaliações
- E BOOK A Interlocucao de Saberes Na Formacao Docente 2 1 1Documento260 páginasE BOOK A Interlocucao de Saberes Na Formacao Docente 2 1 1reginaldo aliçandro BordinAinda não há avaliações
- V 28 N 2 A 12Documento29 páginasV 28 N 2 A 12Mirsailles16Ainda não há avaliações
- 6.5 - Reale - Pena de Morte e MistérioDocumento11 páginas6.5 - Reale - Pena de Morte e MistérioPablo Antonio LagoAinda não há avaliações
- Filosofia-Exercícios Sobre o Período Helenista-2018Documento5 páginasFilosofia-Exercícios Sobre o Período Helenista-2018Gabriela BotelhoAinda não há avaliações
- Texto Nº 5-6 - Flick, Uwe, (2005) Métodos Qualitativos Na Investigação CientíficaDocumento9 páginasTexto Nº 5-6 - Flick, Uwe, (2005) Métodos Qualitativos Na Investigação CientíficaMala CuecoAinda não há avaliações
- Atitude Natural e Atitude FenomenológicaDocumento16 páginasAtitude Natural e Atitude FenomenológicaMarcelino CelinhoAinda não há avaliações
- Artigo Cientifico (TCC)Documento15 páginasArtigo Cientifico (TCC)celio silvaAinda não há avaliações
- Filosofia Da Mente e Linguagem para Donald DavidsonDocumento14 páginasFilosofia Da Mente e Linguagem para Donald DavidsonJaber Felipe FakerAinda não há avaliações
- ExistencialismoDocumento5 páginasExistencialismoEsdras OliwerAinda não há avaliações
- Gnosis 1° Câmara Suma Das ConferênciasDocumento2 páginasGnosis 1° Câmara Suma Das ConferênciasEmerson DonizeteAinda não há avaliações
- 1CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO Subjetividade e IdentidadeDocumento14 páginas1CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO Subjetividade e IdentidadecleziamarioAinda não há avaliações
- Manual de Dogmática II PDFDocumento25 páginasManual de Dogmática II PDFRenildo Belarmino SilvaAinda não há avaliações
- Logica Formal e DialéticaDocumento10 páginasLogica Formal e Dialéticarebeca_borges_1Ainda não há avaliações
- Filosofia Uninter Aula 1Documento20 páginasFilosofia Uninter Aula 1Eduardo JeremiasAinda não há avaliações
- Os Primórdios Da Psicologia Como CiênciaDocumento35 páginasOs Primórdios Da Psicologia Como CiênciaHellenaReis2Ainda não há avaliações