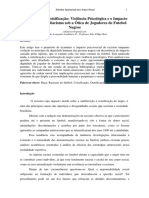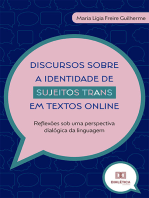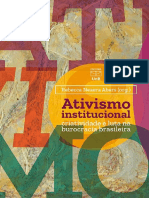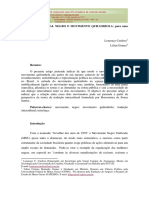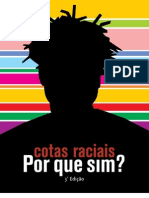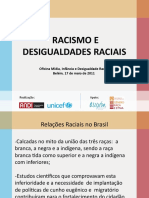Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Racismo Institucional Uma Abordagem Conceitual1
Racismo Institucional Uma Abordagem Conceitual1
Enviado por
Marcele de OliveiraDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Racismo Institucional Uma Abordagem Conceitual1
Racismo Institucional Uma Abordagem Conceitual1
Enviado por
Marcele de OliveiraDireitos autorais:
Formatos disponíveis
1
RACISMO INSTITUCIONAL
UMA ABORDAGEM CONCEITUAL
Estamos convencidos de que racismo, discriminao racial,
xenofobia e intolerncia correlata revelam-se de maneira diferenciada
para mulheres e meninas, e podem estar entre os fatores que levam a
uma deteriorao de sua condio de vida, pobreza, violncia, s
mltiplas formas de discriminao e limitao ou negao de seus
direitos humanos.
Declarao da III Conferncia Mundial contra o Racismo,
Xenofobia e Intolerncias Correlatas, pargrafo 69.
EXPEDIENTE:
Realizao: Geleds Instituto da Mulher Negra
Coordenao: Geleds Instituto da Mulher Negra e
Cfemea Centro Feminista de Estudos e Assessoria
Consultoria e Redao: Jurema Werneck*
Grupo de Trabalho: Ana Carolina Querino (OIT), Fernanda Lopes (UNFPA),
Guacira Cesar de Oliveira, Nina Madsen (Cfemea), Joana Chagas (ONU Mulheres),
Jurema Werneck (consultora), Fernanda Lira Goes, Luana Simes Pinheiro, Natalia
de Oliveira Fontoura, Tatiana Dias Silva(IPEA), Felipe Hagen Evangelista da Silva,
Mariana Marcondes (SPM), Monica de Oliveira (Seppir), Nilza Iraci (Geleds).
Projeto Mais Direitos e Mais Poder para as Mulheres Brasileiras desenvolvido por:
Coletivo Leila Diniz,
Cfemea Centro Feminista de Estudos e Assessoria, Cunh Coletivo Feminista,
Geleds Instituto da Mulher Negra, Instituto Patrcia Galvo Mdia e Direitos,
Redeh Rede de Desenvolvimento Humano, SOS Corpo Instituto Feminista para
a Democraci.
Com o apoio do Fundo para a Igualdade de Gnero da ONU Mulheres
Editorao e Design: Trama Design
Impresso Digital: Ibraphel Grfca
* Possui graduao em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (1986), mestrado
em Engenharia de Produo pela Coordenao dos Programas de Ps-graduao de Engenharia/COPPE/UFRJ
(2000) e doutorado em Comunicao e Cultura pela Escola de Comunicao da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (2007). coordenadora de Criola, organizao no governamental fundada em 1992. Desenvolve aes,
projetos e pesquisas nas reas de sade da populao negra, mulheres negras, racismo e cultura negra.
Apresentao
3
Parte 1 - Racismo, Racismo Institucional e Gnero
5
Racismo e sua (inter)face de gnero
7
Racismo institucional
13
Parte 2 - Proteo, Desproteo Social e Racismo Institucional
17
Proteo social: conceituando
19
Financiamento de polticas pblicas: a poltica tributria
23
Desproteo social: o papel do racismo
27
Parte 3 - Indicadores de Racismo Institucional ou Sistmico
31
Indicadores: discusso inicial
33
Monitoramento e avaliao: defnio de indicadores como momento do processo de
planejamento e avaliao
37
Indicadores de Racismo Institucional nas polticas de Proteo Social
39
Quadros de Indicadores
41
Bibliografa
51
SUMRIO
O
texto aqui apresentado visa oferecer novos elementos que ampliem a viso do
marco conceitual adequado aos objetivos do Projeto Mais Direitos e Mais Poder
para as Mulheres Brasileiras - Componente: Indicadores de Racismo Institucional
1
,
que se referem a construir indicadores de racismo institucional que permitam:
a. Refetir sobre os resultados da manuteno do racismo no mbito do
Estado, a serem detectados na anlise das relaes institucionais, dos
dados de registros administrativos e demogrfcos e dos dados referentes
a fuxos de trabalho na execuo das polticas pblicas;
b. Incidir na formulao e monitorar a implementao de polticas pblicas
nas reas de Seguridade Social e Trabalho, com especial enfoque para a
mulher negra, promovendo o reconhecimento do racismo institucional
como violao dos direitos da populao negra;
c. Revelar desigualdades no atendimento s mulheres brancas e mulheres
negras (os dados devem ser desagregados por gnero e por raa);
d. Consolidar uma metodologia que possa ser replicada para as demais
reas/setores das polticas pblicas.
A tarefa aqui desenvolvida buscar dialogar com o estudo preparado pelo Prof. Dr.
Ronaldo Sales
2
, que introduziu informaes e reexes acerca do racismo institucional
e algumas de suas formas de participao nas polticas pblicas e no mundo do
trabalho.
Aqui, o trabalho ser desenvolvido em trs partes, quais sejam:
Parte 1: abordar a relao entre racismo, racismo institucional e seus
impactos de acordo com papis e identidades de gnero;
Parte 2: o conceito de proteo social, o lugar do racismo institucional
em seus processos e resultados, buscando exemplifcar sua incidncia
na vida das mulheres negras e no seu acesso s polticas pblicas de
proteo social;
Parte 3: os indicadores. Aqui buscaremos apontar, de modo preliminar,
dimenses prioritrias da proteo/desproteo social, alm de propor
um conjunto preliminar de indicadores.
1. O Projeto Mais Direitos e Mais Poder para as Mulheres Brasileiras rene sete organizaes no-governamentais
feministas (CFEMEA, Coletivo Leila Diniz, Cunh, Geleds Instituto da Mulher Negra, Instituto Patrcia Galvo,
Redeh e SOS Corpo) a Secretaria de Polticas para as Mulheres da Presidncia da Repblica (SPM/PR) e apoiado pelo
Fundo para a Igualdade de Gnero da ONU Mulheres.
2. Estudo preliminar apresentado ao Projeto.
APRESENTAO
9
PARTE 1
RACISMO,
RACISMO INSTITUCIONAL
E GNERO
O racismo uma ideologia que se realiza nas relaes entre pessoas e grupos, no
desenho e desenvolvimento das polticas pblicas, nas estruturas de governo e nas
formas de organizao dos Estados. Ou seja, trata-se de um fenmeno de abrangncia
ampla e complexa que penetra e participa da cultura, da poltica e da tica. Para isso
requisita uma srie de instrumentos capazes de mover os processos em favor de seus
interesses e necessidades de continuidade, mantendo e perpetuando privilgios e
hegemonias.
Por sua ampla e complexa atuao, o racismo deve ser reconhecido tambm como
um sistema, uma vez que se organiza e se desenvolve atravs de estruturas, polticas,
prticas e normas capazes de denir oportunidades e valores para pessoas e
populaes a partir de sua aparncia
3
atuando em diferentes nveis: pessoal,
interpessoal e institucional conforme a gura 1:
3. Jones, C P. Confronting institutionalized racism, Phylon, s/ data, pp. 10-11.
RACISMO
E SUA (INTER)FACE DE GNERO
12
J tem sido fartamente explicitado que nas sociedades da dispora africana o racismo
se desenvolve estabelecendo o que W. E. B. DuBois deniu como linha de cor. Ou
seja, sob o racismo, uma separao (segregao) feita a partir da cor da pele das
pessoas, permitindo aos mais claros ocuparem posies superiores na hierarquia
social, enquanto os mais escuros sero mantidos nas posies inferiores,
independentemente de sua condio (ou seus privilgios) de gnero ou quaisquer
outros. Note-se que a linha de cor, aind que guarde certa exibilidade em relao s
diferentes tonalidades, reivindicar e resguardar, nas disputas cotidianas e gerais, o
lugar de privilgio sempre para o mais claros
4
.
Portanto ser somente a partir desta segregao que outras hierarquias sero
estabelecidas, tendo forte participao nas iniquidades baseadas na valorao
diferenciada e hierrquica dos diferentes papis e identidades de gnero das
pessoas, permitindo aos homens e a heterossexuais ocuparem posies superiores
nos diferentes polos acima e abaixo da linha de cor. A masculinidade heterossexual,
ento denida como polo superior e como norma, leva as diferentes expresses do
feminino
5
, dos diferentes grupos raciais, a posies de inferioridade. No entanto, a
linha de cor determinar, para todas as pessoas de pele escura, os lugares de maior
desvalorizao tanto do ponto de vista simblico quanto de insero no mundo
material, nas relaes sociais e polticas. Nesta complexa teia de valores e excluses,
lsbicas e bissexuais, ao lado de transexuais e travestis atingid@s por ampla e forte
rejeio, ocuparo as piores posies na hierarquia de gnero, rearmando-se, a
partir destas excluses, a heterossexualidade biolgica ou inata como obrigatria
entre as pessoas de pele clara, mas tambm entre as de pele escura.
Uma expresso da desigualdade injusta marcada pela linha de cor pode ser vista nos
dados sobre a renda mdia de brasileiras e brasileiros (gura 2 ):
4. A meritocracia, ou seja, o sistema em que aquel@s supostamente mais aptos ou preparados ocupariam as melhores
posies na hierarquia ser desenvolvida a partir da associao perversa entre ocupao de posies de privilgio e
indicadores de valor.
5. As diferentes expresses do feminino aqui descritas renem tanto os diferentes tipos de pessoas nascidas com o sexo
biolgico feminino com diferentes orientaes sexuais, como tambm as travestis e as transexuais.
Figura 2: Renda mdia da populao, segundo sexo e raa/cor. Brasil, 2009
13
A gura permite apresentar um importante mecanismo de estabelecimento
da subordinao racial, qual seja, a administrao desigual do acesso aos
resultados do trabalho coletivo e das riquezas produzidas segundo a raa
de indivduos e grupos. Dizendo de outro modo, poderemos vericar a forma
como o racismo permite a apropriao desigual da renda e da riqueza, a
partir do privilegiamento d@s branc@s, especialmente dos homens deste
grupo racial.
Outro aspecto desta produo da inferioridade negra pode ser visto na
Previdncia Social. Construda sob regras contributivas, ou seja, a partir da
individualizao da contribuio como forma de acesso, ela se apoia nas
regras de segregao estabelecidas pela sociedade racista, como veremos
a seguir (gura 3):
Figura 3: Previdncia Social
Assim, uma vez tendo participao precria no mundo do trabalho e na
obteno de renda equivalente, negras e negros estaro em posio inferior
no que se refere capacidade contributiva para a Previdncia Social. Neste
cenrio, as mulheres negras tero participao ainda mais prejudicada.
No ser coincidncia, portanto, a maior participao das mulheres negras
entre os grupos que vivem em extrema pobreza, conforme demonstram os
dados a seguir:
Figura 4: Indigncia
O que se demonstra nestes dados so exemplos da realizao daquilo que
arma Stuart Hall ao dizer que raa a modalidade na qual a classe
vivida
6
, expondo-se o forte componente de superexplorao econmica
subjacente s relaes raciais. Ou seja, a produo da pobreza e da
indigncia est diretamente relacionada ao modo como o racismo incide
sobre direitos sociais, especialmente aos direitos de proteo social.
Este trabalho no localizou fontes de dados que possibilitassem a anlise da
extenso das iniquidades raciais por diferentes identidades de gnero.
Assim, no ser possvel delimitar aqui de que forma o racismo impacta a
vida socioeconmica de lsbicas, gays, transexuais e travestis nos diferentes
grupos raciais. No entanto, j reconhecida a capacidade deste, incorporando
mecanismos de subordinao de gnero, de impor barreiras livre expresso
dos direitos sexuais, impondo a indivduos e grupos com identidades de gnero
diferentes da norma inmeras barreiras livre circulao social, o que certamente
tm impactos tanto nos nveis de escolaridade quanto nas possibilidades de livre
participao no mundo do trabalho. O exemplo das travestis de todas as raas,
aprisionadas em um conjunto restrito de ocupaes, em grande parte sub-
remuneradas, ajuda a trazer algumas luzes sobre esta dimenso da iniquidade.
6. Race is thus, also, the modality in which class is lived. Hall, Stuart, Race, articulation and societies structured in
dominance, p. 341. In: Hall, Stuart, C. Critcher, T. Jefferson, J. Clarke & B. Roberts (1978): Policing the Crisis. London:
Macmillan.
15
Chamaremos aqui a este fenmeno de hierarquizao de gnero a partir da raa
como racismo patriarcal heteronormativo. A partir dele, a pirmide social vai permitir
a mulheres brancas maior mobilidade social, em especial as heterossexuais,
colocando-se superiormente a homens e mulheres negr@s e, em muitos casos, a
lsbicas, gays, travestis e transexuais dos diferentes grupos raciais.
Sob o imprio do racismo patriarcal outras hierarquias sero produzidas e/ou
ampliadas. Esta colaborao entre mecanismos de hierarquizao ou, como apontou
Kimberl Crenshaw, de eixos de subordinao, retratam o fenmeno da
interseccionalidade.
Diferentes eixos de subordinao esto ativos em sociedades como a nossa, entre
eles:
de gerao, dando a adult@s melhores posies em relao a jovens e
idos@s;
de condio fsica ou mental, onde pessoas com defcincias e pessoas
com doenas crnicas enfrentam as maiores barreiras;
de situao territorial, que confere privilgios @s habitantes dos centros
urbanos em detrimento das populaes perifricas, rurais, ribeirinhas e
da foresta. E, para alm, desempoderando tod@s @s que vivem nas
regies do pas mais espoliadas poltica e economicamente, quando
comparados @s residentes, no caso do Brasil, nas regies sudeste e sul.
Assim, desigualdades e iniquidades assumiro uma gama variada de expresses,
tendo a raa como determinante das posies de gnero vividas sob regime
heteronormativo, marcas estas fortalecidas ou desqualicadas por outras condies
individuais e coletivas.
A interseccionalidade permite tambm aprofundarmos a compreenso da amplitude
dos desaos enfrentados pelas mulheres dos grupos raciais inferiorizados, vistos de
forma integrada.
Em interessante artigo, Nikol Alexander-Floyd (2012) destaca que a
interseccionalidade deve ser vista de dois modos complementares: como ideia
ou conceito que traduz a interseco de racismo, sexismo e classismo,
reconhecidos co-determinantes da subordinao; mas tambm como
ideograma. Nesta perspectiva, a interseccionalidade reunir em um nico
termo aglutinador todas as foras opressivas que limitam a vida das mulheres
dos grupos racialmente inferiorizados e das mulheres negras em especial.
Assim, a interseccionalidade nos libertaria, de certa maneira, dos esforos at
ento empreendidos por diferentes ativistas e pesquisador@s, de tentar traduzir
a magnitude da opresso vivida por estes grupos de mulheres atravs do
exerccio impreciso de encaixe de diferentes formas de opresso. Desafiando-
se a partir da as formas de produo conceitual e de conhecimento a respeito
destas mulheres, bem como as formas de luta libertrias em desenvolvimento,
especialmente aquelas no interior do feminismo, mas no somente estas.
Se fato que as mulheres (no conceito estendido para alm da biologia, o que inclui
as travestis e as transexuais) dos diferentes grupos raciais estaro em desvantagem
em muitos aspectos em relao aos homens (idem) de seu grupo racial, possvel
vericarmos tambm a mirade de diferenas e desigualdades injustas que se
estabelecem entre as primeiras. Nesta complexidade, cada mulher ou grupo
homogneo de mulheres vivenciar de forma especca os efeitos do racismo
patriarcal heteronormativo. Estas variaes correspondero aos modos como so
atravessadas pelos demais eixos de subordinao que se colocam em uma sociedade
complexa e altamente hierarquizada como a brasileira.
A gura seguinte retrata alguns destes eixos de subordinao que participam da
construo da inferiorizao de umas e do privilgio de outras:
Figura 5: Interseccionalidades ou eixos de subordinao
Baseada no modelo proposto por Kimberl Crenshaw para o conceito de interseccionalidade
A partir da perspectiva acima compreenderemos o racismo institucional, tambm
denominado racismo sistmico, como mecanismo estrutural que garante a excluso
seletiva dos grupos racialmente subordinados - negr@s, indgenas, cigan@s, para
citar a realidade latino-americana e brasileira da dispora africana - atuando como
alavanca importante da excluso diferenciada de diferentes sujeit@s nestes grupos.
Trata-se da forma estratgica como o racismo garante a apropriao dos resultados
positivos da produo de riquezas pelos segmentos raciais privilegiados na sociedade,
ao mesmo tempo em que ajuda a manter a fragmentao da distribuio destes
resultados no seu interior.
O racismo institucional ou sistmico opera de forma a induzir, manter e condicionar a
organizao e a ao do Estado, suas instituies e polticas pblicas atuando
tambm nas instituies privadas, produzindo e reproduzindo a hierarquia racial. Ele
foi denido pelos ativistas integrantes do grupo Panteras Negras Stokely Carmichael
e Charles Hamilton em 1967, como capaz de produzir:
A falha coletiva de uma organizao em prover um servio apropriado
e profssional s pessoas por causa de sua cor, cultura ou origem tnica.
(Carmichael, S. e Hamilton, C. Black power: the politics of liberation in
America. New York, Vintage, 1967, p. 4).
Atualmente, j possvel compreendermos que, mais do que uma insucincia ou
inadequao, o racismo institucional um mecanismo performativo ou produtivo,
capaz de gerar e legitimar condutas excludentes, tanto no que se refere a formas de
governana quanto de accountability. Ou, nas palavras de Sales Jr:
o fracasso institucional apenas aparente, resultante da contradio
performativa entre o discurso formal e ofcial das instituies e suas prticas
cotidianas, sobretudo, mas no apenas informais. Esta contradio (...)
fundamental para entender os processos de reproduo do racismo, em
suas trs dimenses (preconceito, discriminao e desigualdade tnico-
raciais), no contexto do mito da democracia racial. (Sales Jr, mimeo,
2011).
O racismo institucional um dos modos de operacionalizao do racismo patriarcal
heteronormativo - o modo organizacional - para atingir coletividades a partir da
priorizao ativa dos interesses dos mais claros, patrocinando tambm a negligncia
e a deslegitimao das necessidades dos mais escuros. E mais, como vimos acima,
restringindo especialmente e de forma ativa as opes e oportunidades das mulheres
negras no exerccio de seus direitos.
RACISMO INSTITUCIONAL
18
Dizendo de outro modo, o racismo institucional um modo de subordinar o direito e a
democracia s necessidades do racismo, fazendo com que os primeiros inexistam ou
existam de forma precria, diante de barreiras interpostas na vivncia dos grupos e
indivduos aprisionados pelos esquemas de subordinao deste ltimo.
Podemos perceber que, para que seja efetivo, o racismo institucional deve dispor de
plasticidade suciente para oferecer barreiras amplas - ou precisamente singulares -
de modo a permitir a realizao da hegemonia branca, privilegiando o interesse dos
homens brancos heterossexuais em muitos aspectos, mas das mulheres brancas em
vrios deles. Esta plasticidade visa tambm adequ-lo interao com os demais
eixos de subordinao j apontados aqui, tornando seus mecanismos de excluso
mais seletivos e profundos.
O conceito de racismo institucional guarda relao com o conceito de vulnerabilidade
desenvolvido por Mann e Tarantola (1992) para analisar aspectos da epidemia de
HIV/AIDS. Para Ayres o conceito de vulnerabilidade abrange:
O conjunto de aspectos individuais e coletivos relacionados ao grau e
modo de exposio a uma dada situao e, de modo indissocivel, ao
menor ou maior acesso a recursos adequados para se proteger tanto
do agravo quanto de suas consequncias indesejveis. (O conceito de
vulnerabilidade e as prticas de sade: novas perspectivas e desafos,
2003).
Desenvolvido como forma de deslocamento do olhar e da ao desde as culpas e
riscos dos atingidos para as causas do acometimento, este conceito vai permitir
tambm a visibilizao e o enfrentamento de diferentes fatores concorrentes para a
produo da infeco, expondo o plano das aes, polticas e, fundamentalmente,
dos direitos.
Trs diferentes dimenses interligadas foram apontadas como atuantes na produo
de maior ou menor vulnerabilidade de pessoas e populaes a determinadas
condies - no caso estudado pelos autores, trata-se da vulnerabilidade infeco
pelo vrus HIV. So elas:
a. dimenso individual onde esto inseridos comportamentos que
desprotegem;
b. dimenso social destaca as condies polticas, culturais, econmicas e
etc., a partir do que se produz e/ou legitima a vulnerabilidade;
c. dimenso poltica ou programtica refere-se ao institucional
voltada para a gerao da proteo e/ou reduo da vulnerabilidade de
indivduos e grupos, na perspectiva de seus direitos humanos.
Pelo exposto, podemos vericar a proximidade entre os conceitos de vulnerabilidade,
particularmente sua dimenso programtica, e racismo institucional. Desta
perspectiva, racismo institucional equivaleria a aes e polticas institucionais capazes
de produzir a vulnerabilidade de indivduos e grupos sociais vitimados pelo racismo.
A gura a seguir retrata os diferentes momentos onde os mecanismos de
vulnerabilidade, desproteo ou excluso podem ser acionados, em relao s
polticas e mecanismos de gesto, construindo as iniquidades:
19
Figura 6: Modos e momentos de operacionalizao do RI
Em cada um destes momentos, mecanismos seletivos de privilegiamento e barreiras
por exemplo: linguagens, procedimentos, documentos necessrios, distncias,
custos, etiquetas, atitudes etc. - podero ser interpostos sem qualquer controle ou
constrangimento, dicultando ou impedindo a plena realizao do direito e o
atendimento s necessidades expressas.
Assim, instaura-se em cada um destes momentos e em todo o percurso lgicas,
processos, procedimentos, condutas, que vo impregnar a cultura institucional o
que se no os torna invisveis, os faz parte da ordem natural das coisas - capazes
de dicultar ou impedir o alcance pleno das possibilidades e resultados das aes,
programas e polticas institucionais, perpetuando a excluso racial. Importante
salientar que este conjunto de mecanismos e atitudes podero produzir efeitos tanto
no polo representativo d@s agentes do Estado nas diferentes posies da hierarquia
organizacional, quanto sobre indivduos e grupos.
No entanto, importante tambm no perdermos de vista que, antes e alm da ao
institucional, o racismo se coloca como marco ideolgico legitimador e denidor de
prioridades, reivindicando e legitimando culturas e condutas cotidianas ou prossionais
dentro e fora das instituies. Desse modo, podem propiciar e rearmar a excluso
racial e o fortalecimento de seus resultados sobre os diferentes grupos raciais.
ACESSO E UTILIZAO PROCESSOS RESULTADOS
Grau de vivncia e/ou internalizao da
subrdinao
aceitabilidade
cultura
linguagem/alfabetizao/ escolaridade
atitudes, crenas/preferncias
envolvimento no cuidado
renda
Estrutural
informao
disponibilidade
grau de organizao
transporte
Financeiro
suporte pblico
cobertura (sistema privado)
capacidade de desenbolso
Compromisso de gestor@s
Atuao intersetorial e
interinstitucional
Planejamento adequado
Monitoramento, avaliao e
retroaimentao
Qualidade dos servios
competncia cultural, racial e de
identidade de gnero
capacidade de comunicao
conhecimentos
enfrentamento a preconceitos/
esteretipos
Ateno e assistncia apropriados
Efccia do procedimento
Compreenso e adeso d@ sujeit@
da ao
Participao social
Proteo / desproteo social
sade
previdncia
assistncia social
bem estar
Equidade/ iniquidade
Vises d@ sujeit@ da ao
experincias
satisfao
paceria efetiva
Fonte: Cooper, Lisa A et al, Desingning and Evaluating Interventions to Eiminate Racial and Ethinic Disparties in Health
Care, JGIM, vol. 17, June 2002. Adaptao do modelo proposto especialmente para este trabalho.
20
Foi em relao a esta capacidade do racismo atuar em nome de seus prprios
parmetros, perpetuar-se e legitimar-se produzindo privilgios, que Gary King chamou
ateno para o fato de que:
Pessoas e organizaes que se benefciam do racismo institucional so
refratrias a mudanas voluntrias do status quo. (King, Gary. Institutional
Racism and the Medical/Health Complex: a conceptual analysis, p. 33,
1996).
Com isso, justica-se a criao de medidas e mecanismos capazes de quebrar a
invisibilidade do racismo institucional, de romper a cultura institucional, estabelecendo
novas proposies e condutas que impeam a perpetuao das iniquidades.
21
PARTE 2
PROTEO,
DESPROTEO SOCIAL E
RACISMO INSTITUCIONAL
Existem diferentes denies para o termo proteo social. Em todas, o que se
assinala so mecanismos e polticas pblicas capazes de garantir patamares
adequados de estabilidade (fsica/mental, laboral, econmica) a tod@s @s sujeit@s e
grupos nas sociedades democrticas.
Segundo Mrcio Pochmann (2004), falar de proteo social implica reconhecer um
quase monoplio estatal na produo do bem-estar social. Isto, ao lado do
reconhecimento da necessidade de se impor limites a livre atuao do capitalismo
nas sociedades sob seu regime. Limitaes estas que devem ser capazes de controlar
a abrangncia das desigualdades e iniquidades produzidas ou ampliadas pelo
sistema, o que, podemos vericar, tem se tornado cada vez mais urgente aps a
instaurao da crise no centro do capitalismo ocidental.
Para o mesmo autor, trs diferentes vertentes ou motivaes principais estiveram
(esto?) por trs da criao de diferentes modelos de Estado de Bem-Estar Social nas
sociedades capitalistas. So elas:
a necessidade de se proteger os mais fracos, incapazes de se incorporar
sociedade competitiva;
o desejo de favorecer indivduos, grupos e populaes de trabalhador@s
necessri@s ao mercado;
a necessidade de redistribuio de renda (especialmente atravs da
tributao progressiva).
A opo pelo privilegiamento de uma destas vertentes vai determinar a abrangncia
da proteo social como conceito e como atuao Estatal.
No Brasil, a ao estatal de proteo social ampara-se fundamentalmente na
Constituio Federal de 1988, em seu Ttulo VII (Da Ordem Social), captulo II (Da
Seguridade Social). Segundo este documento legal, a ordem social tem como
prioridade o trabalho, objetivando o bem estar e a justia social. Desse modo
estabelece que:
A seguridade social compreende um conjunto integrado de aes de
iniciativa dos poderes pblicos e da sociedade, destinadas a assegurar os
direitos relativos sade, previdncia e assistncia social. (CF Art. 194).
PROTEO SOCIAL:
CONCEITUANDO
24
Este conjunto integrado deve ser regido segundo objetivos de:
I. universalidade da cobertura e do atendimento;
II. uniformidade e equivalncia dos benefcios e servios s populaes
urbanas e rurais;
III. seletividade e distributividade na prestao dos benefcios e servios;
IV. irredutibilidade do valor dos benefcios;
V. equidade na forma de participao no custeio;
VI. diversidade da base de fnanciamento;
VII. carter democrtico e descentralizado da gesto administrativa, com a
participao da comunidade, em especial de trabalhadores, empresrios
e aposentados. (Idem, pargrafo nico).
Vista como um avano social conquistado pelas foras democrticas que inuenciaram
a redao do texto constitucional ou pelo menos, como um empate em relao aos
interesses das foras representativas do conservadorismo e do mercado - a denio
de seguridade social aponta para a busca de patamares mnimos de bem-estar social
no pas.
Ao longo das duas dcadas de vigncia da Constituio, importante assinalar que
as disputas ideolgicas em torno da qualidade e abrangncia da democracia
brasileira tm repercutido de modo intenso sobre o ordenamento jurdico e,
principalmente, sobre a capacidade do Estado brasileiro em cumprir a determinao
constitucional, especialmente no que se refere aos direitos sociais materializados no
captulo da seguridade social. possvel vericarmos que as trs vertentes apontadas
por Pochmann ainda permanecem sob tenso na realidade brasileira e na abrangncia
das obrigaes estatais - e as disputas entre elas permanecem.
Podemos reconhecer tambm que a fora com que o pensamento neoliberal penetrou
os governos brasileiros de cunho social-democrata (anos FHC, anos Lula e,
aparentemente, o atual governo) tm imposto restries ao exerccio dos direitos
sociais, substituindo-os pelo alargamento de formas de assistncia social de cunho
semi-lantrpico. Isto, ao lado de mudanas nas relaes e direitos trabalhistas que
cursaram com amplo estmulo informalidade ou reduo dos deveres do Estado
brasileiro. Esta retrao trouxe tambm ampliao da participao privada na Sade
e na Previdncia Social para trabalhador@s do campo privado e para servidor@s
pblicos, secundria adoo de mecanismos de reduo da atuao da previdncia
pblica.
Ao reconhecermos a necessidade expressa por este Projeto, de produzir mecanismos
que permitam o enfrentamento das iniquidades, em particular aquelas instauradas
sob o regime do racismo patriarcal heteronormativo, expe-se a determinao de
utilizarmos aqui o conceito de proteo social na concepo mais ampla do que as
polticas reunidas no captulo constitucional da seguridade social, apontando para
perspectivas redistributivas, de equidade. Assim, ser til o recurso ao conceito
conforme assinalado por Sonia M. Draibe:
25
O termo proteo remete ideia de proteo contra riscos sociais, tanto
os velhos e clssicos perda previsvel da renda do trabalho quanto
os contemporneos ter emprego decente, educar os flhos, viver nas
megalpoles, habitar e alimentar-se condignamente etc. Dessa forma o
conceito afasta-se muito do tradicionalmente referido apenas seguridade
social. (Proteo e insegurana sociais em tempos difceis, 2005, P.6).
Ou seja, optamos aqui por armar a proteo social como um conjunto de polticas
pblicas e tambm sua qualidade e abrangncia - capazes de estabelecer padres
mnimos de igualdade e estabilidade social a pessoas e grupos, garantindo
oportunidades para seu desenvolvimento e existncia em patamares confortveis.
Desse modo, impondo restries e confrontando as formas como as ideologias e
prticas excludentes restringem direitos e produzem sofrimentos e injustias.
Importante destacar que a opo pela forma ampla - ou pela forma restrita - do
conceito traz embutida uma denio da abrangncia do capitalismo e da democracia
entre ns. Neste cenrio assumem relevncia opes conceituais (ideolgicas)
relativas ao escopo (e abrangncias) dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas,
dos deveres do Estado (e da accountability), da descentralizao das polticas
pblicas, dos signicados de ecincia administrativa e de participao social.
Nestes tempos de crise do capitalismo neoliberal nos pases centrais ocidentais
(Amrica do Norte e Europa), tais opes vo demarcar continuidades e/ou rupturas
com as opes governamentais feitas no perodo dos dois governos liderados pelo
presidente Fernando Henrique Cardoso/FHC e no perodo Lula, tambm ao longo de
dois governos, ressignicadas agora no Governo Dilma.
De todo modo, abordar a proteo desde a perspectiva redistributiva implica dirigir o
olhar mais amplo, alm das polticas de assistncia social, ou mesmo para alm do
conjunto de polticas reunidas no captulo constitucional da seguridade social.
No contexto da iniquidade racial e suas variantes sexistas, assumem relevncia
tambm as polticas e mecanismos que visam enfrentar as iniquidades estruturais. No
caso brasileiro, ser tambm parte da proteo social as seguintes polticas:
promoo da igualdade racial;
polticas para as mulheres;
polticas de promoo de direitos humanos;
polticas para a juventude;
acesso terra e regularizao fundiria;
polticas para os povos indgenas.
Tais polticas vo atuar de modo a qualicar as polticas para o enfrentamento do
racismo institucional e demais iniquidades, ao mesmo tempo em que prope uma
nova cultura governamental e para a sociedade.
26
Esta amplitude, que inclui trabalho e emprego e educao, bem como segurana
pblica e enfrentamento s violncias, alm de outros setores, pode ser vista na gura
a seguir:
Figura 7: Polticas pblicas de proteo social
Proteo Social
Promoo da
igualdade racial
Politicas para
as mulheres
Direitos Humanos
Juventude,
Idosos, LGBT
Polticas para
povos indgenas
Seguridade social
Assitencia social
e combate pobreza;
Sade; Previdncia social
Trabalho das mulheres
Trabalho domstivo
Emprego e proteo
ao desemprego
Educao
Habitao
e Saneamento
Cultura
Esporte e lazer
Segurana Pblica
Transporte
Acesso terra
e regularizao
fundiria
A trajetria histrica do desenvolvimento do Estado de Bem-Estar Social no foi
homognea, tampouco linear, nos diferentes cenrios do capitalismo central ocidental.
Alguns condicionantes estiveram e ainda esto - relacionados maior ou menor
capacidade de investimento nanceiro nas iniciativas de delimitao e reparao dos
efeitos do desenvolvimento capitalista.
Para a constituio de sistemas de proteo social redistributivos nos pases
inspirados em princpios socialdemocratas foi fundamental, como destacou Marcio
Pochmann (op cit), a constituio de fundos pblicos como estrutura secundria de
redistribuio, que contava com regimes de tributao progressiva da renda e da
riqueza. Tal situao no se repetiu no Brasil. Para pases como o nosso, onde as
iniquidades estruturais, especialmente a desigualdade racial, foram incorporadas ao
tipo de capitalismo perifrico a nosso alcance, o desenvolvimento de sistemas e
polticas de proteo social tem esbarrado em disputas de poder profundas, que
atingem diretamente as formas de concepo e desenvolvimento do Estado nacional.
Em tais disputas, esto em jogo denies do modelo de democracia moderna que
somos e seremos capazes de produzir, considerando as presses advindas das
necessidades do capitalismo central, ao lado das presses internas por reduo ou
eliminao da excluso social e para a constituio de patamares razoveis de
redistribuio. Estas opes tm como pr-requisito fundamental a ao de uma
sociedade civil fortalecida, capaz de angariar espaos dentro e fora de partidos
polticos mais anados com seus princpios e necessidades de mudana. Sendo,
principalmente, capaz de produzir hegemonias consistentes no pensamento brasileiro
quanto aos projetos de nao e de relaes sociais mais justas.
No Brasil atual, no entanto, persiste um sistema tributrio fortemente regressivo, que
penaliza os estratos mais baixos da pirmide de renda, tendo seus resultados
investidos principalmente na manuteno dos privilgios conferidos pelo status quo.
Conforme assinalaram Salvador e Yannoulas (2010):
O sistema tributrio brasileiro (...) tem sido um instrumento a favor
da concentrao de renda, agravando o nus fscal dos mais pobres e
aliviando o das classes mais ricas. O Imposto de Renda (IR) tem sido
utilizado como instrumento de renncias fscais e favorecido a eliso
e o planejamento tributrio, alm de dar tratamento mais gravoso aos
rendimentos do trabalho e isentar os rendimentos do capital, como a
distribuio do lucro. (Oramento e fnanciamento de polticas pblicas
para a equidade de gnero, raa e gerao, p.8).
FINANCIAMENTO
DE POLTICAS PBLICAS:
A POLTICA TRIBUTRIA
28
Assim, a hiperconcentrao da riqueza capitalista nas mos de poucos tem sido um
importante mecanismo em favor dos grupos privilegiados e um entrave importante
para a realizao e expanso da proteo social, a partir da interposio de barreiras
e ltros para a implementao adequada das polticas pblicas e dos direitos sociais.
Nas palavras de George E. M. Kornis, o Brasil desenvolveu:
Um welfare state, em sntese meritocrtico-particularista fundado
na capacidade contributiva do trabalhador e num gasto pblico
residual fnanciado por um sistema tributrio regressivo. Um
sistema no-redistributivo e montado sobre um quadro de grandes
desigualdades e de misrias absolutas (...). (Kornis, 1995, pp. 58-59,
citado por Fiori, J. L., 1997).
Esta perspectiva vlida tanto para as polticas anteriores Constituio Federal
atual, quanto para as aes e reformas posteriores. De fato, as sucessivas alteraes
e reformas instauradas no campo das polticas sociais e da poltica tributria no
lograram alterar substancialmente estes padres, restando sempre desaos no
enfrentados na direo da redistribuio das riquezas e da equidade, mesmo aps as
determinaes constitucionais de 1988.
A onda neoliberal instaurada no Brasil a partir dos anos 90, a exemplo de outros
pases da Amrica Latina, trouxe como principal contraponto implementao
adequada da proteo social, a imposio da ideia de Estado mnimo. Denido como
incompetente e desnecessrio democracia de mercado, o Estado deveria ser
reduzido a tarefas bsicas. Este Estado mnimo teria como aliado um tipo de cidadania
que se apoia e se estabelece a partir de relaes de consumo de produtos (no lugar
de polticas) oferecidos por empresas privadas, regulados pelas dinmicas prprias
do mercado capitalista. Para este, a proteo social que interessa deve ser aquela
dirigida somente aos mais fracos, incapazes de competir, deixando ao mercado a
tarefa de regular as demais relaes sociais e estabelecer os mecanismos de proteo
considerados mais adequados a suas necessidades. Dessa forma, restringe-se a
proteo social a medidas de assistncia social semi-lantrpicas afastadas da
perspectiva de direitos sociais e de seguridade.
Nestes anos de inuncia neoliberal, as reformas da Previdncia desenvolvidas
implantaram dispositivos necessrios para a reduo da responsabilidade estatal,
permitindo a apropriao de importante fatia desta poltica pelo mercado de
previdncia privada e os fundos de penso, estabelecendo um teto previdencirio
pblico e mantendo-se regime contributivo vinculado ao trabalho formal.
J a reforma tributria do perodo no enfrentou a taxao regressiva injusta (ver
tabela 1), instaurando ou reforando mecanismos capazes de promover maior
arrecadao, ladeados por forte carga de renncia scal ofertada s classes
empresariais mais privilegiadas. Para as populaes na base da pirmide social, a
contrapartida foi uma maior capacidade gerencial nas polticas compensatrias,
maior amplitude destas em termos populacionais e nanceiros e a retomada do
estmulo presena de segmentos privados lantrpicos ou no na seguridade social,
reduzindo os direitos de cidadania e os deveres do Estado.
29
A busca de exibilizao das legislaes trabalhistas tambm fez parte da agenda
destes governos, ao lado do estabelecimento de concursos pblicos de modelo
restritivo (como tempo pr-determinado entre 2 e 5 anos de contratao em muitos
casos) e de estratgias de contratao em regime de CLT ou por produto (as
chamadas consultorias) para ampliao do quadro de servidores federais.
Assim, tem se buscado ao longo dos anos aprovar legislaes que garantam o
barateamento do custo da mo de obra, a exibilizao das regras de formalizao e
a reduo da participao dos gastos patronais no custeio da proteo ao trabalho.
Neste perodo, um forte estmulo ao empreendedorismo cursou com um aumento do
trabalho sem cobertura previdenciria, o que ajudou a elevar o chamado dcit
previdencirio. Mais recentemente, medidas de estmulo maior participao
previdenciria de trabalhador@s dos extratos mais baixos e informais tem resultado
no aumento da participao estatal no pagamento dos custos da incluso
previdenciria destes segmentos, ao lado de desembolsos diretos de usuri@s, sem
qualquer aporte por parte das empresas ou do mercado nanceiro.
Vemos ento uma reduo da capacidade de investimento estatal na proteo social,
seja pela crescente crise dos mercados nanceiros internacionais, exigente de mais
aportes de recursos para salvar seus proprietrios e processos; ou pela reduo da
arrecadao secundaria escalada de isenes de impostos para empresas e a
continuidade da poltica scal regressiva. O crescente sub-nanciamento da
30
seguridade social tem resultado na reduo das possibilidades de desenvolvimento de
proteo social redistributiva, apesar de reconhecermos o forte impacto que os programas
de assistncia social e combate pobreza extrema em curso tm tido sobre a desigualdade
de renda e o ndice de Gini.
Outra caracterstica importante do pensamento neoliberal foi a invisibilizao das ideologias
produtoras e justicadoras das iniquidades, de modo a permitir sua livre circulao num
ambiente acrtico. Para o neoliberalismo, buscar confrontar o racismo patriarcal
heteronormativo colocar-se em rota de coliso com seus interesses de acumulao
embutidos na armao de um modelo de democracia desregulada e desenvolvida sob a
liderana do mercado.
No foi por acaso, portanto, que no cenrio conturbado da expanso neoliberal no pas, os
primeiros anos do governo Lula no lograram cumprir os compromissos de campanha
relativos a mudanas profundas nas polticas pblicas de inspirao neoliberal (erigidas,
como j armamos, sobre o arsenal de estratgias, polticas e aes do racismo patriarcal
heteronormativo), na direo de polticas redistributivas capazes de inaugurar um ciclo
virtuoso de bem-estar social e equidade. Ao contrrio, alm de reformas levadas a cabo
segundo a cartilha neoliberal, estratgias e mecanismos de promoo da equidade e
eliminao das desigualdades racial, de gnero, de gerao, e outras foram inseridas ou
desenvolvidas na estrutura governamental de modo subordinado e precrio.
Ao eleger a erradicao da fome e a reduo da pobreza como eixos da proteo social, o
Governo Lula abriu mo das concepes e perspectivas de justia e equidade ofertadas
pelos direitos sociais inseridos na Constituio (o que inclui sua adeso a tratados
internacionais neste campo) e pelas lutas sociais que possibilitaram sua eleio como
representante das foras democrticas de transformao social. De fato, este governo abriu
mo de promover alteraes signicativas na estrutura do Estado brasileiro e de romper, de
fato e de direito, com a verdadeira herana maldita que o racismo patriarcal heteronormativo
representa. Assim, deixou intocadas as causas das causas da fome e da pobreza, entre
elas, a naturalizao das inquidades e de sua concentrao principalmente entre os mais
escuros; a apropriao da riqueza e o exerccio de privilgios econmicos, polticos e
culturais pelos mais claros. Tais medidas foram traduzidas no apenas na destinao de
maiores parcelas dos recursos pblicos para as classes nanceiras e proprietrias, mas
tambm pela manuteno da dvida social em padres muito altos. Padres visveis na
ausncia de deciso e de investimentos no reordenamento poltico, jurdico e de governana.
Alm do excesso de timidez ou da falta de vontade poltica para a criao, implantao e
implementao de polticas pblicas capazes de promover mudanas consistentes na vida
dos segmentos femininos de pele escura e de pele clara; das residentes nas reas distantes
dos centros urbanos; entre as mais jovens e as idosas; entre outras. Tais medidas implicariam
inverso radical nas formas de nanciamento pblico e na estrutura de arrecadao; de
participao e representao pblica (nos mecanismos formais e nas dinmicas da
sociedade); e de organizao e administrao governamental, de modo a reduzir a
fragmentao por um lado, ao mesmo tempo em que, por outro, permitissem a singularizao
das aes segundo grupos homogneos de pessoas de acordo com os eixos de
subordinao a serem enfrentados e desfeitos. Assim, ousando e realizando o projeto
coletivo elaborado ao longo de todo o sculo XX e intensicado aps a dcada de 60 por
diferentes segmentos sociais onde se destaca, ao menos por sua longevidade, o Movimento
Negro, de propor e conduzir mudanas signicativas na cultura e nas relaes sociais
brasileiras como projetos de longo prazo, para o sculo XXI.
Como vimos anteriormente, a participao do racismo patriarcal heteronormativo na
constituio das hierarquias sociais no Brasil fenmeno amplo e complexo, com
mecanismos ativos nos nveis pessoal (internalizado), interpessoal e institucional.
Assinale-se que estas trs dimenses atuam de modo concomitante e cooperativo
para produzirem o quadro de destituio e excluso material e simblica
experimentados por pessoas e grupos racialmente subordinados.
No que se refere ao estado de direito e s polticas pblicas, o racismo patriarcal
heteronormativo propicia um conjunto de lacunas e destituies, seja a partir de jogos
explicitamente excludentes ou de adoo de perspectivas inerciais que permitam
continuidade ao status quo de privilegiamento da branquitude e, nela, da masculinidade
heterossexual.
Reconhea-se, mais uma vez, que o racismo institucional um mecanismo produtivo,
capaz de gerar e retroalimentar a excluso racial, muito mais do que um suposto
efeito colateral ou inercial da ideologia. Da podermos vericar, em suas vrias formas
de atuao, diferentes momentos e oportunidades de realizao da hegemonia
racista da branquitude. Ao mesmo tempo, signicaro possibilidades e oportunidade
para a interveno transformadora.
Tais momentos sero exemplicados no quadro a seguir, tendo a proteo social
como direito:
Quadro I: Racismo e controle
ESTRUTURA ESTADO POLTICAS PUBLICAS AES/PROGRAMAS/PROJETOS
Controle ideolgico e
operacional do Estado.
Controle dos poderes
constitutivos: formao
e perpetuao
de maiorias.
Objetivos dirigidos
aos interesses do
grupo dominante.
Critrios de
planejamento e
priorizao defnidos
sob a perspectiva do
grupo dominante.
Propriedade e controle
dos meios de produo
de hegemonia cultural,
poltica e econmica.
Mecanismos de controle
acessveis especialmente
aos grupos dominantes:
critrios, mecanismos
(partidos polticos,
universidades);
escolaridade, processos
seletivos (concursos,
currculos).
Administrao a cargo
de representantes do
grupo dominante:
controle dos critrios
de acesso a cargos
superiores.
Objetivos e metas
dirigidas aos interesses
de manuteno
do status quo.
DESPROTEO SOCIAL:
O PAPEL DO RACISMO
32
Como podemos vericar, diferentes posies e iniciativas precisam estar sob o
monoplio ou o controle dos grupos racialmente dominantes, para agirem de modo
ecaz na produo de discursos e perspectivas legitimadoras do privilgio. Assim, as
escolhas, caminhos gerenciais e lgicas empreendidas guardaram relao de
continuidade com a constituio de facilidades ou barreiras operacionais, ao lado da
produo de mecanismos que permitam sua naturalizao. O que implica tambm
em diversicao das oportunidades e momentos adequados de agir visando
eliminao destas barreiras e destas facilidades interpostas pelo racismo. Fique claro
que tais oportunidades devem ser apropriadas, de forma concomitante ou escalonada,
segundo planejamento bem estruturado para, desse modo, atingir o racismo de forma
profunda, confrontando-o e possibilitando, no longo prazo, sua eliminao.
No campo da proteo social no sentido amplo, o racismo institucional atua em
diferentes nveis, propiciando maior ou menor proteo, segundo veremos abaixo:
1. Estrutural:
a. produz e legitima a apropriao dos mecanismos e resultados das
polticas pblicas pelo grupo racialmente hegemnico;
b. deslegitima perspectivas redistributivas.
Exemplo: a crescente perspectiva contributiva, de consumo,
no desenvolvimento de polticas sociais; adoo de critrios
mercadolgicos de gesto e de avaliao de resultados;
invisibilizao ou abandono dos princpios de isonomia, equidade,
igualdade racial e redistribuio de renda e riqueza como
balizadores das aes do Estado e das politicas pblicas (reduo
da efccia constitucional).
2. Estado:
a. reduz a capacidade de controle e gerenciamento dos recursos e
polticas pblicas sociais;
b. mantm ou amplia o controle do grupo racialmente hegemnico
sobre polticas econmicas.
3. Polticas pblicas:
a. mantm identidade de objetivos e resultados de apropriao
de riquezas materiais e simblicas com interesses do grupo
racialmente dominante;
b. amplia a participao privada na gesto das polticas sociais.
Exemplo: participao crescente de empresas, OS, OSCIP,
flantrpicas nas polticas de seguridade social, habitao, transporte,
saneamento, cultura, ao lado da insufcincia e incompetncia dos
mecanismos de promoo da equidade. Controle e administrao
das polticas ocupao de cargos na hierarquia superior - nas
mos de representantes dos grupos racialmente hegemnicos.
33
4. Programas, projetos, aes:
a. amplia e dissemina prticas de ao focalizadas nos tidos como
incapazes de gerar riqueza prpria: re-flantropizao das polticas
sociais;
b. reduz os objetivos das polticas pblicas remediao dos efeitos
colaterais da competio capitalista;
c. abandona a perspectiva de redistribuio e transformao social;
d. reduz a capacidade de reduo ou eliminao das disparidades
raciais e de gnero, entre outras.
Exemplo: crescente adoo de metodologia gerencial por
produo ou outras segundo a lgica do capitalismo central.
Ao lado da inexistncia ou inoperncia de mecanismos de
enfrentamento ao racismo institucional.
possvel vericarmos, nas questes colocadas, a complexidade das relaes entre
racismo patriarcal e o sistema econmico hegemnico. Desnecessrio recordar que
esta vinculao subsiste desde a empresa colonial escravocrata, cuja explorao
exponencial da mo de obra humana possibilitou a acumulao primordial que esteve
na origem das modalidades modernas de relaes econmicas e de trabalho.
Ainda assim, para a continuidade de modalidades de explorao, de acumulao e
de aprisionamento de Estados nacionais pelos interesses de grupos racialmente
hegemnicos em grande parte representados pelas populaes brancas ocidentais
tem sido necessria a adeso e atualizao de vises inferiorizantes de outras
populaes, a reiterao do domnio do Estado e a naturalizao de perspectivas
reduzidas de democracia e igualdade.
Como vemos, o racismo como fenmeno produtivo guarda profundas relaes com a
constituio da modernidade capitalista ocidental, bem como seus processos
econmicos e sociais. E ele se confunde de variadas formas, com a democracia
institucionalizada em nossa regio. No ser coincidncia, portanto, sua invisibilizao
diante de quadros to exuberantes de hegemonia branca.
PARTE 3
INDICADORES DE
RACISMO INSTITUCIONAL
OU SISTMICO
O recurso a nmeros, estatsticas e indicadores no uma novidade atual. De fato,
trata-se de um elemento presente nos processos de implantao de modernos
Estados-nao europeus, a partir do sculo XIX. Utilizados como forma de rearmao
e garantia de deslocamento do poder de informao e deciso da mo das elites
aristocrticas para os novos grupos de poder nas democracias incipientes, os
indicadores marcaram tambm a valorizao de conhecimentos cientcos e
especialmente de seus autores/atores supostamente transparentes, neutros e mais
objetivos. Desse modo, trata-se tambm de um deslocamento das deliberaes e
seus fundamentos da esfera dos valores e da poltica sujeitas a subjetividades,
interesses particulares, hegemonias - para a tecnocracia cientca.
Ao longo do tempo, o uso dos nmeros e indicadores passou a fazer parte das rotinas
e das ferramentas utilizadas no mundo corporativo. J nos anos 70 do sculo XX,
houve uma primeira tentativa de se estender seu uso para outros campos: diferentes
instituies buscaram elaborar indicadores capazes de medir fenmenos sociais e
suas transformaes, sendo rmemente rechaados pelas organizaes sociais
poca, que denunciavam a simplicao de processos, sua parcialidade e
preconceitos.
No entanto, a partir da dcada de 90, novos processos passam a disseminar o uso de
tais ferramentas, redundando em maior aceitao ao uso de indicadores. Tal ampliao
retrata, principalmente, o fortalecimento de lgicas e processos propagandeados nos
anos neoliberais e que tiveram o Banco Mundial como um de seus importantes
propulsores, mas que inclui tambm os organismos das Naes Unidas, especialmente
aqueles voltados para a garantia de direitos. Maior controle sobre processos e
resultados, maior ecincia e transparncia, so colocados como razes que justicam
a insero de indicadores desenvolvidos na perspectiva de direitos na rotina de ONGs
e movimentos sociais.
Por outro lado, a disseminao do uso de indicadores no campo das lutas sociais
expe tambm a fragilidade das organizaes da sociedade civil no perodo, que
passam a obedecer e implantar regras e procedimentos condicionados obteno
de fundos corporativos ou pblicos, em grande parte distantes de suas metodologias
e objetivos de trabalho.
Um importante aspecto que a utilizao de indicadores traz que, apesar de
armar-se segundo objetividades e transparncias, seus processos esto, na
prtica, distantes disso. Via de regra, os processos de escolha de seus componentes,
interpretao de seus resultados e disseminao de informaes permanecem
INDICADORES:
DISCUSSO INICIAL
38
vinculados os seus donos, propositores ou autores. Estando assim, afastados das
possibilidades de amplo manejo e compreenso pelo pblico em geral, escondendo
ou revelando interesses em grande medida particulares e depositados, de forma
elitista, na mo de especialistas.
No plano geral, trata-se de cultura disseminada a partir dos pases do capitalismo
central, produtores de uma profuso de dados, modelos lgicos e marcos conceituais
identicados com sua viso de mundo e modos de fazer, ainda que tal cultura seja
apropriada por sujeitos e coletividades na periferia global, sejam cientistas, ociais de
organizaes multilaterais, governos e corporaes especialmente, mas tambm
ativistas e organizaes da sociedade civil. Mesmo nestes casos, a padronizao
necessria aos processos de comparao e ranqueamento embutem relaes de
poder e posies de autoridade que excluem outr@s sujeit@s, suas lgicas, linguagens
e procedimentos. Nas palavras de Sally Engle Merry:
Um indicador permite uma transio da ambiguidade para a certeza;
da teoria para fatos; e da variao complexa e contextual, para a
veracidade comparvel dos nmeros. Em outras palavras, o processo
poltico de julgar e avaliar transformado em assunto tcnico de
medio e contagem pelo trabalho de especialistas diligentes. Prticas
de medio de fenmenos que so facilmente contados, como dinheiro
ou inventrios de bens, so transplantadas para domnios muito
menos suscetveis de quantifcao, como a frequncia de tortura ou
a prevalncia de doenas. Tecnologias de conhecimento desenvolvidas
na esfera econmica movem-se com difculdade dentro destes novos
campos. (Merry, S. E . Measuring the World: Indicators, Human
Rights, and Global Governance. Current Anthropology Volume 52,
Supplement 3, April 2011, p. S88.Traduo minha.)
Ainda assim, possvel reconhecer a utilidade dos indicadores: padronizao,
legibilidade, comparabilidade, capacidade de organizao, controle ou ranqueamento,
entre outros, tm sido teis no apenas a corporaes e governos, mas tambm a
agentes das lutas sociais de transformao. E, uma vez traduzidos para linguagens
cotidianas, diferentes indicadores podem ter ampla circulao nas diferentes
sociedades. Ao mesmo tempo em que, assumindo metodologias hegemnicas,
buscam dilogo direto com estes grupos, porm visando o estabelecimento e
explicitao do contraditrio.
No devemos nos esquecer, de todo modo, que quaisquer indicadores embutem o
risco de fazer desaparecer contextos, especicidades, complexidades,
individualidades e sutilezas que somente a singularizao capaz de expor. Alm de
diminuir o espao para processos polticos baseados em outras formas de
discernimento e avaliao. E, por m, no garantindo a democratizao dos processos
avaliativos e decisrios.
A par destas contradies, resta ainda ao processo aqui em desenvolvimento um
longo caminho de escolhas, apropriaes, rupturas, de modo a permitir que os
indicadores ofeream condies de fortalecimento da sociedade civil e suas lutas,
especialmente no que se refere ao enfrentamento ao racismo patriarcal heteronormativo
e seus mecanismos institucionalizados.
39
Isto signica, em primeiro lugar, a constituio de processos de escolha e denio
de indicadores, sua metodologia de produo e disseminao, bem como suas
possibilidades interpretativas, abertos o suciente para realidades distintas e para
olhares diversos. Para isto, algumas decises foram tomadas pela coordenao deste
captulo do Projeto Mais Direitos e Mais Poder para as Mulheres Brasileiras, a respeito
do escopo e formato dos Indicadores de Racismo Institucional ou Sistmico nas
Polticas de Proteo Social, a saber:
E mais, os indicadores a serem propostos aqui devero considerar:
importante assinalar que o racismo se estabelece e desenvolve acima e alm das instituies.
Desse modo, podemos compreender os limites colocados aos indicadores e capacidade
das instituies per se, de produzirem transformaes mais profundas nas relaes sociais.
O que os indicadores podero assinalar refere-se ao engajamento da instituio especca,
de governos e, no limite (de setores) do Estado, para o enfrentamento do racismo enquanto
dimenso ideolgica e pragmtica. Do mesmo modo, aspectos da anlise dos indicadores
podero apontar tambm os caminhos para o enfrentamento dos diferentes eixos de
subordinao que atravessam indivduos e grupos, garantindo-se sua adequao e
tempestividade nos processos de planejamento, monitoramento e avaliao, ampliando e
aprofundando a ao e a viso sobre os caminhos da mudana.
Assim, o que se quer aqui delinear ferramentas que apoiem a observao e a anlise acerca
da presena e do impacto do racismo institucional nos organismos e polticas dirigidas
proteo social, bem como fornecer suporte para a ao de enfrentamento ao
Racismo Institucional neste campo.
1. Devem ser amplos e inespecfcos, de modo a poderem ser utilizado nas
diferentes reas, polticas e servios.
2. Devem reunir informaes quantitativas e qualitativas de modo
simplifcado e acessvel a no-especialistas.
3. Devem ser elaborados na perspectiva dos movimentos e sujeitos sociais,
organizaes e ativistas, para seu manejo mais apropriado. Ainda
que tambm sirvam para uso por tcnicos e gestores das instituies
governamentais ou corporativas.
4. Devem ser teis tanto para o diagnstico de situaes e processos, como
tambm para sugerir caminhos de superao e reorganizao, numa
perspectiva didtica.
1. Que o racismo institucional ou sistmico garante as condies para a
perpetuao das iniquidades socioeconmicas que atingem a populao
negra e outras atingidas pelo racismo.
2. Que o racismo institucional se associa a outras iniquidades, produzindo
ou ampliando as desigualdades experimentadas pelas mulheres negras
e as demais atingidas pelo racismo patriarcal. Da mesma forma,
associando-se a diferentes eixos de subordinao, agrava as condies
de vida e aprofunda iniquidades.
3. Que o racismo institucional traduz escolhas institucionais atuais ou
passadas reeditadas por deciso ou inrcia. E sua destruio requer
novos compromissos, processos e prticas.
Indicadores so ferramentas que permitem a observao e apoiam anlises acerca
de mudanas que se quer produzir ou observar a partir de determinada ao. Ou
seja:
Indicadores so peas de informao que oferecem uma viso clara a
respeito de questes mais amplas e que tornam perceptveis tendncias
que no so imediatamente detectveis (Hammond et al, citados por
FRANCO, Fernando S. et al. Monitoramento Qualitativo de Impacto
Desenvolvimento de Indicadores para a Extenso Rural no Nordeste
do Brasil, p. 32).
Sua denio e adoo so partes de um processo mais amplo de observao
(monitoramento) e anlise (avaliao), podendo beneciar-se da participao dos
diferentes sujeitos sociais a quem se deve ou quer atender, e para quem as mudanas
so necessrias.
A gura a seguir permite compreendermos o processo dinmico e cclico em que a
denio de indicadores est inserido:
Figura 8: Seis passos de implementao do monitoramento de impacto
Fonte: FRANCO, Fernando S. et al., op. cit.
MONITORAMENTO E AVALIAO:
DEFINIO DE INDICADORES
COMO MOMENTO DO PROCESSO DE
PLANEJAMENTO E AVALIAO
42
Neste processo, o grau de participao dos grupos diretamente interessados
(beneciri@s) pode variar, sendo possvel em todos os momentos, conforme a gura
a seguir. Mas assinale-se que, desde a perspectiva aqui abordada, a participao
desejvel ou mais que isso, mandatria.
Figura 9: Diferentes nveis de participao de sujeitos da ao (benefciri@s)
no monitoramento:
Fonte: FRANCO, Fernando S. et al., op. cit.
A escolha de indicadores para evidenciar o Racismo Institucional e para o
monitoramento dos processos empreendidos para sua erradicao guarda forte
carga de ineditismo. Isto devido baixa incorporao do conceito de racismo
institucional nos processos de trabalho das organizaes governamentais e sociais,
como tambm pela ausncia ou insucincia de experincias prvias de polticas e
estratgias de erradicao do Racismo Institucional e, consequentemente, de seu
monitoramento e avaliao.
Assim, buscaremos apoio nas formulaes gerais de denio de indicadores para
diferentes objetivos e fenmenos, que podem contribuir com a empreitada aqui em
desenvolvimento.
Segundo diferentes especialistas j apontaram, existem critrios importantes para a
escolha de indicadores, quais sejam:
Sensibilidade:
O indicador reage quando h mudanas pequenas?
O indicador reage rapidamente e em escala sufcientemente exata?
O indicador mostra o grau de mudana?
Validade:
O indicador mede aquilo que estamos pensando e no est sendo
infuenciado por outros fatores?
O indicador mede mais direto possvel ou mostra efeitos causais?
Relao custo / benefcio:
Requer muito equipamento ou tempo para medir esse indicador?
Os custos para medir esse indicador so muito altos?
Mensurao:
possvel contar e medir esse indicador?
Qualquer um pode conferir o indicador?
Temporalidade:
pontual?
Pode-se medir em intervalos, por exemplo, cada semana ou ms?
INDICADORES DE RACISMO
INSTITUCIONAL NAS POLTICAS DE
PROTEO SOCIAL
44
Pode-se aplicar esse indicador com continuidade e regularidade?
Consegue reagir quando foge de um intervalo fxo?
Simplicidade:
simples para usar, medir e interpretar?
Todos podem entender o indicador?
No precisa de muitas explicaes?
A partir destes critrios apontamos um conjunto de fenmenos a serem visibilizados e
seus indicadores para evidenciao e monitoramento dos processos de eliminao
do racismo institucional e das disparidades raciais nas polticas de proteo social.
Importante assinalar que as denies adotadas neste trabalho apoiam-se no
pressuposto central de que a eliminao do racismo institucional deve ser parte das
iniciativas, aes, polticas institucionais governamentais e Estatais. O que responde
s determinaes da Declarao e Plano de Ao da III Conferncia Mundial contra
o Racismo, Xenofobia e Intolerncias Correlatas, aos princpios constitucionais, Lei
12. 288 de 2011 (Estatuto da Igualdade Racial) e demais normas jurdicas e polticas
de promoo da equidade, de erradicao das disparidades raciais e de gnero e de
rearmao democrtica da vigncia dos DHESCAs, direitos humanos, econmicos,
sociais, culturais e ambientais no pas. O que implica considerar que a linha de base
para a formulao de indicadores a obrigao institucional de desenvolver, monitorar
e avaliar seus processos de eliminao do Racismo Institucional na totalidade de
suas aes e processos. Desse modo, o que os indicadores devero ressaltar a
vigncia, pertinncia e adequao das inciativas de eliminao do Racismo
Institucional nas polticas de proteo social.
Some-se a isto a necessidade de, diante da perspectiva sistmica do racismo, atuar-
se em diferentes momentos de sua operacionalizao, de modos diversicados.
Dessa forma, almeja-se tornar possvel a instabilizao de seus processos, a partir do
que poderemos alcanar a eliminao paulatina de seus efeitos.
A seguir propomos um elenco de indicadores a partir da perspectiva assinalada
neste trabalho, que aponta trs momentos de incidncia do RI havendo, portanto, trs
diferentes nveis ou oportunidades de agir segundo os princpios estabelecidos na
legislao, para sua eliminao, quais sejam:
a. acesso e utilizao;
b. processos institucionais internos;
c. resultados das aes e polticas pblicas.
45
MODOS E MOMENTOS DE
OPERACIONALIZAO
DO RI
RESPOSTA AO INDICADORES
Grau de vivncia e/
ou internalizao
da subordinao
pel@s sujeit@s:
aceitabilidade
cultura
linguagem/
alfabetizao/
escolaridade
atitudes, crenas,
preferncias
envolvimento na ao
renda
Desenvolvimento
de estratgias
de aproximao
e dilogo com
diferentes populaes
excludas; por
exemplo: estratgias
de abordagem
singularizadas,
deslocamento de
equipes etc.
- Diagnstico das
caractersticas da
populao segundo
raa/cor e sexo/
identidade de gnero
- Ao integrada
com outras polticas
setoriais como
educao e emprego;
- Treinamento
de equipes:
para abordagem
singularizada e
para enfrentamento
ao racismo;
- Estabelecimento de
metas de cobertura para
grupos populacionais
excludos;
- Mapa das populaes
diversas no territrio
segundo raa/cor
e identidade de
gnero atualizado
periodicamente;
- Nmero de equipes
intersetoriais
preparadas para
abordagem
diferenciada;
- Porcentagem de
abordagens de pessoas
e grupo excludos
segundo raa/cor e
identidade de gnero.
Quadro I: Indicadores de eliminao RI no acesso e utilizao de polticas pblicas:
a-Acesso e utilizao: os indicadores propostos para medir as aes de eliminao do
RI neste nvel, para ampliao do acesso e utilizao das polticas pblicas de
proteo social pelas mulheres negras devem permitir a verificao da adequao das
aes adotadas para a aproximao fsica e cultural entre instituies pblicas e as
mulheres negras. Tais iniciativas de aproximao implicam no apenas na eliminao
de entraves que impedem o agente pblico de alcanar as mulheres negras e cada
uma entre elas, como tambm em maior disponibilizao de infraestrutura acessvel
a estas mulheres negras. Ou seja, estes indicadores devero destacar os esforos da
instituio em deslocar-se - fisicamente e quanto cultura institucional - em direo
a este grupo excludo ou sub-representado entre o pblico de suas aes e servios.
46
MODOS E MOMENTOS DE
OPERACIONALIZAO
DO RI
RESPOSTA AO INDICADORES
Estrutural:
informao
disponibilidade
grau de organizao
transporte
- Ampliao da
destinao de recursos
materiais e humanos s
polticas destinadas
reduo das iniquidades
raciais, de gnero e
de classe social
- Ampliao da
participao social
da populao negra.
- Insero da promoo
da equidade racial
e de gnero como
dimenso estratgica
e )objetivo dos ciclos
de planejamentos e
oramento pblicos nas
trs esferas de gesto
- Ampliao da
representao negra,
com equidade de
gnero, nos diferentes
mecanismos de
participao e controle
social nos diferentes
setores das polticas
pblicas e nas trs
esferas de gesto;
- Ampliao da
participao negra,
com equidade
de gnero, e das
informaes para a
promoo da equidade
na comunicao
pblica e privada.
- Nmero de inseres
miditicas de temas de
promoo da equidade
em horrio nobre
para comunicao
e informao de
polticas pblicas e de
promoo da equidade
- Porcentagem de
utilizao de mdias
comunitrias para a
informao pblica
- Porcentagem de
disponibilizao de
turnos alternativos
de atendimento
populao nos
diferentes rgos
de pblicos
- Mapa da distribuio
de servios pelos
territrios segundo %
de populao negra;
- Porcentagem de
horas de treinamento
para a promoo da
equidade de servidores
e profssionais;
- Porcentagem de
equipes lotadas por
turno de trabalho
segundo clientela
prevista.
Financeiro:
suporte pblico
cobertura (pblica
e privado)
capacidade
de desembolso
(contributivo ou privado)
- Criao do oramento
da seguridade social
com maior participao
da taxao da riqueza;
- Ampliao do
oramento pblico
para as polticas
de enfrentamento
ao racismo e as
iniquidades de gnero.
- Ampliao do
investimento pblico
dirigido eliminao
do racismo e
iniquidade de gnero;
- Ampliao das
redes pblicas de
servios nas regies
de maior presena de
populao negra;
- Reduo da
participao
previdenciria
contributiva das
mulheres negras.
- Utilizao da raa/
cor e sexo/identidade
de gnero para clculo
e prestao de contas
do investimento
pblico per capita
nas diferentes
polticas pblicas;
- Porcentagem de gasto
das famlias com sade
e previdncia segundo
raa/cor e sexo/
identidade de gnero.
47
PROCESSOS PARA
ELIMINAO DO RI
RESPOSTA AO INDICADORES
Compromisso de gesto - Criao de um sistema
de enfrentamento ao
racismo institucional
na gesto pblica;
- Adoo do
enfrentamento ao
racismo e reduo
das iniquidades
raciais e de gnero
como marcas dos
diferentes governos.
- Estabelecimento de
normas e protocolos
institucionais de
enfrentamento ao RI;
- Criao e
funcionamento
articulado de
mecanismos
institucionais de
enfrentamento ao RI
com fonte estvel
de fnanciamento
adequado,
transparncia,
prestao de contas;
- Comunicao pblica
de compromisso
com a diversidade
e o enfrentamento
ao racismo;
- Estabelecimento
de aes afrmativas
para ampliao da
participao de
mulheres negras nos
diferentes nveis de
gesto: programas de
qualifcao, cotas,
treinamento das
equipes para maior
aceitabilidade etc.;
- Ampla divulgao
de estratgias, aes
e resultados segundo
raa/cor e explicitao
da realizao de
metas diferenciadas.
INDICADORES
- Nmero de protocolos
de enfrentamento ao
racismo institucional
assinado segundo
setores e organismos
de polticas pblicas;
- Nmero instncias de
coordenao de aes
de enfrentamento ao
RI em funcionamento
segundo setores
e organismos de
polticas pblicas;
- Nmero de campanhas
de promoo da
diversidade e de
enfrentamento ao
racismo desenvolvidas
nos diferentes
rgos pblicos;
- Nmero de mulheres
negras em postos
de chefa segundo
nmero de cargos de
chefa disponveis.
Atuao intersetorial
e interinstitucional
Atuao intersetorial
e interinstitucional
Atuao intersetorial
e interinstitucional
- Nmero de protocolos
intersetoriais
estabelecidos e
assinados.
b-Processos institucionais internos: os indicadores voltados para esta etapa devem
realar alteraes nos processos institucionais. Ou seja, trabalhar os modos e os
movimentos organizativos internos para responder s necessidades expressas ou
coletadas e disponibilizar aes e servios capazes de atender de modo adequado s
diferentes mulheres negras, diminuindo e eliminando as diferenas na prestao de
servios e em seus resultados. Vejamos a seguir:
48
PROCESSOS PARA
ELIMINAO DO RI
RESPOSTA AO INDICADORES
Planejamento adequado - Estabelecimento
de mecanismos
de participao de
mulheres negras
nos processos de
planejamento,
monitoramento
e avaliao das
polticas pblicas;
- Estabelecimento de
processos ascendentes
de planejamento de
polticas, a partir das
localidades e territrios.
- Insero de mulheres
negras nos processos
de planejamento
institucional;
- Insero de objetivos
de eliminao do RI
e das disparidades
raciais e de gnero
nas diferentes
polticas pblicas;
- Insero de
indicadores de melhoria
da qualidade de vida
das mulheres negras
nos critrios de
avaliao de sucesso
e qualidade das
polticas pblicas;
- Divulgao ampla de
processos e resultados;
- Utilizao das
informaes originadas
nos processos de
M&A no novo ciclo
de planejamento.
- Percentual de
mulheres negras
participantes dos ciclos
de planejamento,
monitoramento e
avaliao de polticas
segundo a populao a
que estas se dirigem;
- Estabelecimento de
metas diferenciadas
segundo raa/cor
e sexo/identidade
de gnero para as
aes e polticas.
Monitoramento,
avaliao e
retroalimentao
- Estabelecimento
de metodologias
simplifcadas
e amigveis de
monitoramento e
avaliao de polticas
para eliminao do RI.
- Participao de
mulheres negras
na defnio de
processo e indicadores
de avaliao;
- Incorporao
de indicadores de
enfrentamento ao
RI aos critrios
de avaliao de
polticas pblicas;
- Utilizao das
informaes resultantes
no novo ciclo de
planejamento.
- Percentual de
mulheres negras
inseridas nos processos
de monitoramento
e avaliao
desenvolvidos;
- Percentual de
polticas e estratgias
de enfrentamento ao
RI bem avaliadas.
49
PROCESSOS PARA
ELIMINAO DO RI
RESPOSTA AO INDICADORES
Qualidade dos servios:
competncia
cultural, racial, e de
identidade de gnero
capacidade de
comunicao
conhecimentos
enfrentamento
a preconceitos e
esteretipos
- Desenvolvimento
de polticas pblicas
singularizadas segundo
grupos raciais e de
gnero, territrio
e identidades;
- Ampliao da
descentralizao e
autonomia da gesto
voltadas para ampliao
da participao e da
resolutividade;
- Ampliao da
capacidade indutora
e reguladora dos
mecanismos de
promoo da igualdade
racial e de gnero.
-Estabelecimento
de aes afrmativas
para ampliao da
diversidade cultural,
racial, e de identidade
de gnero na gesto e
nas equipes de trabalho;
- Ampliao da
disponibilidade
de treinamentos
para a capacidade
institucional de dilogo
e acolhimento da
diversidade e para o
enfrentamento ao RI;
- Desenvolvimento
de processos de
avaliao peridica
da competncia
institucional para
enfrentamento ao RI;
- Posicionamento
dos mecanismos
de enfrentamento
ao RI e eliminao
das iniquidades de
gnero nos estratos
superiores da hierarquia
administrativa.
- Percentual de
participao de
mulheres negras nas
aes afrmativas
e outros estmulos
contratao de
diferentes profssionais
adotadas;
- Proporo de
participao de
mulheres negras nas
equipes de trabalho
segundo a populao
no territrio; segundo
raa/cor e sexo/
identidade de gnero;
- Localizao dos
mecanismos de
enfrentamento ao
RI e eliminao das
iniquidades de gnero
no organograma
institucional.
Atendimento adequado - Ampliao do grau
de satisfao das
mulheres negras em
relao s aes e
polticas pblicas.
- Defnio de
estratgias de
acolhimento s
mulheres negras
e populao;
- Adequao da
infraestrutura
de servios s
necessidades das
mulheres negras e da
populao negra;
- Equiparao do
tempo de espera para
atendimento segundo
raa/cor e sexo/
identidade de gnero.
- Estabelecimento
e divulgao de
ouvidorias para
organismos e
polticas pblicas;
- Insero dos
quesitos raa/cor
e sexo/identidade
nos formulrios
administrativos,
inclusive nas
ouvidorias;
- Tempo de espera para
atendimento segundo
raa/cor e sexo/
identidade de gnero;
- Grau de satisfao
da populao atendida
e no atendida
segundo perfl
cultural, racial, e de
identidade de gnero.
50
PROCESSOS PARA
ELIMINAO DO RI
RESPOSTA AO INDICADORES
Efccia dos
procedimentos
- Reduo do RI nos
organismos e nas
polticas pblicas;
- Estabelecimento de
metas de reduo do
RI e das disparidades
raciais e de gnero
nas polticas.
- Percentual de
populao satisfeita
segundo raa/cor
e sexo/identidade
de gnero;
- Percentual de alcance
dos resultados das
aes e polticas
segundo raa/cor
e sexo/identidade
de gnero.
Compreenso e adeso
de sujeit@s da ao
-Estabelecimento
de estratgias de
aproximao entre
organismos de
gesto e execuo de
polticas pblicas e
as mulheres negras;
- Estabelecimento
de mecanismos de
singularizao de aes
e polticas voltados
para as necessidades
das mulheres negras;
- Disponibilizao
de canais de
informao, dilogo e
denncias sobre aes
desenvolvidas em locais
e horrios acessveis
s mulheres negras.
- Percentual de
mulheres negras
que responderam
adequadamente
s perguntas
sobre objetivos e
mecanismos das
polticas em avaliaes
institucionais.
Participao social - Estabelecimento
de aes afrmativas
para ampliao da
participao das
mulheres negras nas
diferentes instncias
e processos.
- Criao de vagas
para mulheres negras
proporcionais e sua
presena na populao
nas diferentes instncias
e mecanismos de
participao e controle
das polticas pblicas.
- Percentual de
mulheres negras
participando das
diferentes instncias
segundo populao;
- Metodologia de
incorporao de
demandas das mulheres
negras no planejamento
institucional aplicada.
c-Resultados das aes e polticas pblicas: Neste nvel, os indicadores devem ser
capazes de realar o desenvolvimento de aes que atestem a mudana institucional,
vista como adoo de prticas capazes de aproximar os objetivos institucionais das
necessidades das mulheres negras. Assim, tais indicadores buscaro traduzir os
esforos institucionais de eliminao do RI a partir da anlise do resultado das
polticas pblicas. Vejamos:
51
MODOS E MOMENTOS DE
OPERACIONALIZAO
DO RI
RESPOSTA AO INDICADORES
Proteo social
sade
previdncia social
assistncia social
emprego e proteo
ao desemprego
educao
habitao e
saneamento
transporte
cultura
esporte e lazer
- Estabelecimento de
metas de ampliao
da proteo social das
mulheres negras;
- Estabelecimento de
metas de reduo do
RI e das iniquidades
de gnero nas
polticas pblicas.
- Pactuao de metas
sanitrias de reduo
da morbimortalidade
segundo raa/cor;
- ampliao da cobertura
previdenciria de
mulheres negras: MEI,
trabalho domstico;
- Ampliao da cobertura
das polticas de assistncia
social segundo raa/
cor a grupos especfcos:
usuri@s de sade mental,
populao de rua;
- Reduo do desemprego
e informalidade entre
mulheres negras;
- Reduo dos diferencias de
escolaridade/ renda segundo
raa/cor e identidade de
gnero e situao regional;
- Reduo da carga
horria de trabalho das
mulheres negras;
- Reduo da disparidade
racial nas taxas de
escolaridade entre
mulheres segundo idade
e situao territorial;
- Ampliao da participao
de mulheres negras nos
programas de moradia;
- Distribuio de opes
de moradia nos diferentes
territrios (eliminao da
segregao territorial) dando
prioridade de aquisio
s mulheres negras;
- Ampliao da
disponibilidade,
integrao e efccia de
transportes coletivos;
- Reduo dos
custos individuais de
utilizao do sistema de
transporte coletivo;
- Simplifcao de
mecanismos de acesso
e disponibilizao de
fnanciamento pblico
para iniciativas culturais
comunitrias;
- Estabelecimento de
metas de reduo das
disparidades raciais
pactuadas em cada poltica;
- Percentual de mulheres
negras associadas
previdncia pblica;
- Proporo de brancas
e negras com cobertura
previdenciria;
- Elaborao de mapa da
populao com direito
assistncia social
segundo perfl cultural,
racial, e de identidade
de gnero atualizado;
- Percentual de
candidat@s assistncia
atendid@s segundo
perfl cultural, racial e de
identidade de gnero;
- Percentual da populao
infantil atendida em
creches segundo raa/cor;
- Percentual de mulheres
negras matriculadas
em escolas e cursos;
- Mapa do dfcit
habitacional segundo
raa/cor e identidade de
gnero atualizado;
- Mapa da distribuio
de empreendimentos
habitacionais populares
por regio das cidades;
- Mecanismos de
reduo tarifria e
integrao em curso, p.
ex: bilhete nico etc.;
- Novas modalidades de
acesso moradia utilizadas:
comodato, hipoteca
crdito simplifcado etc.;
- Raa/cor e identidade
de gnero como critrios
de elegibilidade e
qualifcao para moradia
popular; fnanciamento a
empreendimentos culturais.
52
MODOS E MOMENTOS DE
OPERACIONALIZAO
DO RI
RESPOSTA AO INDICADORES
Ampliao da
disponibilizao
de equipamentos
esportivos pblicos
com fexibilizao dos
horrios de utilizao,
dando prioridade s
atividades e esportes
preferidos pelas
mulheres negras.
Equidade - Ampliao
da divulgao,
compreenso e
incorporao do
princpio da equidade
nas polticas pblicas.
- Desenvolvimento
de estratgias de
comunicao do
princpio da equidade
para gestor@s,
trabalhador@s e
para a populao em
geral, especialmente
as mulheres negras;
- Adoo de metas
de equidade nas
polticas pblicas.
- Nmero de
mecanismos de
promoo da
equidade atuantes;
- Nmero de
campanhas de
promoo da equidade
em curso para os
diferentes pblicos.
Vises d@s
sujeit@s da ao
experincias
satisfao
parceria efetiva
- Maior adeso ao
enfrentamento ao
RI e reduo das
iniquidades de gnero.
- Ampliao das
noes de direito pelas
mulheres negras;
- Ampliao
da participao
de gestor@s e
profssionais nas
aes e polticas de
eliminao do RI e das
iniquidades de gnero.
- Percentual de
avaliaes positivas
das mulheres negras
acerca da qualidade e
dos objetivos das aes
e polticas em curso;
- Nmero de
reclamaes, denncias
e elogios apresentados
s ouvidorias segundo
raa/cor e sexo/
identidade de gnero.
Cabe ressaltar que o monitoramento e avaliao dos processos necessrios
eliminao do racismo institucional nos trs nveis apontados aqui requer a constituio
de sistemas intra e interinstitucionais com autonomia, capacidade operacional e
competncia gerencial, adequadas ao desenvolvimento contnuo e sustentvel das
aes necessrias ao cumprimento de seu mandato. Tais atribuies requerem
tambm transparncia de dilogo permanente com a sociedade civil, especialmente
com as diferentes mulheres negras e suas representaes.
Por outro lado, fundamental que, no lado da sociedade civil, se constitua mltiplos
observatrios, articulados entre si, de modo a garantir a replicabilidade e a
sustentabilidade das aes ao longo do tempo, de modo a permitir que aprofundem
seu alcance de mudana do Estado e suas relaes.
ALEXANDER-FLOYD, Nikol G. Disappearing Acts: Reclaiming Intersectionality in the
Social Sciences in a Post-Black Feminist Era. In: Feminist Formations, Volume 24,
Issue 1, Spring 2012, pp. 1-25 (Article), The Johns Hopkins University Press DOI:
10.1353/ff.2012.0003 (2012).
ALMEIDA, Paulo Roberto de. Seria o governo Lula neoliberal?: as inconsistncias das
polticas econmicas ditas alternativas numa era de constrangimentos scais. Notas
preparadas para o VII Annual Meetings of the Hewlett/UIUC Project on Brazil Brazil in
a Neo-Liberal World, Social and Economic Aspects. FEA-USP, 29 e 30 de julho de
2004.
AYRES, J. C. R. M. et al. O conceito de vulnerabilidade e as prticas de sade: novas
perspectivas e desaos. In: CZERESNIA, D.; FREITAS, C. M. de. Promoo da sade:
conceitos, reexes, tendncias. Rio de Janeiro, FIOCRUZ, 2003.
BRASIL. Constituio Federal, 1988.
CARMICHAEL, S. e HAMILTON, C. Black power: the politics of liberation in America.
New York: Vintage, 1967.
COOPER, Lisa A et al, Desingning and Evaluating Interventions to Eiminate Racial and
Ethinic Disparties in Health Care. In: JGIM, vol. 17, June 2002.
CRENSHAW, Kimberle. Documento para o Encontro de Especialistas em Aspectos da
Discriminao Racial relativos ao Gnero. In: Estudos Feministas, 1, 2002.
ONU. Declarao e Programa e Ao da III Conferncia Mundial contra o Racismo,
Xenofobia e Intolerncias Correlatas. Durban, 2001.
DRAIBE, S. M. Proteo e insegurana sociais em tempos difceis, preparado para o
Taller Inter-Regional Proteccin Social en una Era Insegura: Un Intercambio Sur-Sur
sobre Polticas Sociales Alternativas en Respuesta a la Globalizacin. Santiago,
Chile, Mayo 14-16, 2002- 2005.
FIORI, J. L., Estado de bem-estar social: padres e crises. Physis Revista de Sade
Coletiva, 7(2), Rio de Janeiro, 1997, pp. 129-147.
FLEURY, Sonia. Governo Lula: continusmo no primeiro ano. Mudanas no segundo?
In: Democracia Viva,
http://www.ibase.br/site-antigo/modules.php?name=Conteudo&pid=849 Consulta em
18 de agosto de 2012.
FRANCO, Fernando S. et al. Monitoramento Qualitativo de Impacto. Desenvolvimento
de Indicadores para a Extenso Rural no Nordeste do Brasil. Berlim / Fortaleza /
Recife, novembro 2000. Mimeo.
BIBLIOGRAFIA
54
HALL, Stuart, Race, articulation and societies structured in dominance, p. 341. In:
HALL, Stuart, C. CRITCHER, T. Jefferson, J. CLARKE & B. ROBERTS (1978): Policing
the Crisis. London: Macmillan.
INESC. Governo Dilma executou o oramento 2011 com freio puxado. Nota tcnica n.
177, maro de 2012.
IPEA [et al.]. Retrato das Desigualdades. 4a edio, 2011.
IVO, Anete B. L. A reconverso do social: dilemas da redistribuio no tratamento
focalizado. So Paulo em Perspectiva, 18(2): 57-67, 2004.
JONES, Camara P. Confronting institutionalized racismo. Phylon, s/ data.
KING, Gary. Institutional Racism and the Medical/Health Complex: a conceptual
analysis. In: International Society on Hypertension. In: Blacks, Ethinicity and Disease.
Winter-Spring; 6(1-2), Atlanta ,1996, pp. : 30-46.
MERRY, Sally. Engle. Measuring the World: Indicators, Human Rights, and Global
Governance. Current Anthropology Volume 52, Supplement 3, April 2011.
BRASIL. Guia Referencial para Medio de Desempenho e Manual para Construo
de Indicadores. Ministrio do Planejamento. Braslia, dezembro de 2009.
MONNERAT, Giselle L. e SOUZA, Rosimary Gonalves de. Da Seguridade Social
intersetorialidade: reexes sobre a integrao das polticas sociais no Brasil. R. Katl,
Florianpolis, v. 14, n. 1, p. 41-49, jan./jun. 2011.
POCHMANN, Mrcio. Proteo Social na Periferia do Capitalismo: consideraes
sobre o Brasil. So Paulo em Perspectiva, 18(2) 2004.
SALES JR, Ronaldo. Racismo Institucional. Trabalho preliminar apresentado ao Projeto
Mais Direitos e Mais Poder para as Mulheres Brasileiras, FIG, 2011.
SALVADOR, Evilsio e YANNOULAS, Silvia. Oramento e nanciamento de polticas
pblicas para a equidade de gnero, raa e gerao. Relatrio de pesquisa
apresentado ao Projeto Desenvolvimento e Direitos Humanos: Caminhos para a
equidade de gnero, raa e gerao, Criola, 2010.
Você também pode gostar
- "Família, Emoção e Ideologia'', Publicado No Livro "Psicologia Social - O Homem em Movimento" - Resenha Crítica Por Roberta Maria Silveira NassarDocumento4 páginas"Família, Emoção e Ideologia'', Publicado No Livro "Psicologia Social - O Homem em Movimento" - Resenha Crítica Por Roberta Maria Silveira NassarRoberta NAinda não há avaliações
- AMARO, SARITA - A Questao Racial Na Assistencia SocialDocumento13 páginasAMARO, SARITA - A Questao Racial Na Assistencia SocialJeferson RodriguesAinda não há avaliações
- Considerações Sobre o Locus Da Mulher Negra BrasileiraDocumento16 páginasConsiderações Sobre o Locus Da Mulher Negra BrasileiraPri NunesAinda não há avaliações
- Outrificação e Coisificação - Violência Psicológica e Impacto PsicossocialDocumento20 páginasOutrificação e Coisificação - Violência Psicológica e Impacto PsicossocialEdinéia RossiAinda não há avaliações
- Negros Contra A Ordem - 20 - 05 (Definitivo) PDFDocumento210 páginasNegros Contra A Ordem - 20 - 05 (Definitivo) PDFLu DiasAinda não há avaliações
- Racismo PDFDocumento20 páginasRacismo PDFViniciusSilvaAinda não há avaliações
- Prostituição e Violência de Gênero - A Rua F em Alta FlorestaDocumento20 páginasProstituição e Violência de Gênero - A Rua F em Alta FlorestaJoeser AlvarezAinda não há avaliações
- Raça, o Significante Flutuante - Revista Z Cultural PDFDocumento6 páginasRaça, o Significante Flutuante - Revista Z Cultural PDF658724Ainda não há avaliações
- Persistentes Desigualdades Raciais eDocumento17 páginasPersistentes Desigualdades Raciais eAna Cleia Ferreira RosaAinda não há avaliações
- Guia de Enfrentamento Ao Racismo Institucional PDFDocumento37 páginasGuia de Enfrentamento Ao Racismo Institucional PDFSandro SilvaAinda não há avaliações
- 042 Congresso Eliane CavalleiroDocumento13 páginas042 Congresso Eliane CavalleirosandrahsagradoAinda não há avaliações
- Educação, diversidade e direitos humanos: Trajetórias e desafiosNo EverandEducação, diversidade e direitos humanos: Trajetórias e desafiosAinda não há avaliações
- Educação Em Direitos Humanos E DiversidadeNo EverandEducação Em Direitos Humanos E DiversidadeAinda não há avaliações
- Discursos sobre a identidade de sujeitos trans em textos online: reflexões sob uma perspectiva dialógica da linguagemNo EverandDiscursos sobre a identidade de sujeitos trans em textos online: reflexões sob uma perspectiva dialógica da linguagemAinda não há avaliações
- Relações Étnico-Raciais e Outros Marcadores Sociais da Diferença: Diálogos InterdisciplinaresNo EverandRelações Étnico-Raciais e Outros Marcadores Sociais da Diferença: Diálogos InterdisciplinaresAinda não há avaliações
- FLÁVIA RIOS. Movimento Negro Nas Ciências Sociais. 1950-2000Documento12 páginasFLÁVIA RIOS. Movimento Negro Nas Ciências Sociais. 1950-2000Rhavier Pereira100% (1)
- Dossie Lgbti Brasil EbookDocumento216 páginasDossie Lgbti Brasil EbookGladston PassosAinda não há avaliações
- Negro HojeDocumento8 páginasNegro HojeAna Patrícia FernandesAinda não há avaliações
- Gênero: A História de Um ConceitoDocumento22 páginasGênero: A História de Um ConceitoSilas SousaAinda não há avaliações
- O Movimento Negro e A Questao Da Açao AfirmativaDocumento12 páginasO Movimento Negro e A Questao Da Açao AfirmativaNani OliveiraAinda não há avaliações
- As Consequências Da Escravidão Na História Do Negro No BrasilDocumento11 páginasAs Consequências Da Escravidão Na História Do Negro No BrasilLuana FontesAinda não há avaliações
- Novos Rumos No FeminismoDocumento3 páginasNovos Rumos No FeminismoMarina Pandeló PaivaAinda não há avaliações
- Hipersexualização Das Mulheres Negras Aspectos Sócio-Históricos e A Influência Da MídiaDocumento29 páginasHipersexualização Das Mulheres Negras Aspectos Sócio-Históricos e A Influência Da MídiaCarlos MonteiroAinda não há avaliações
- Ativismo Institucional - Abers-9786558461593 PDFDocumento359 páginasAtivismo Institucional - Abers-9786558461593 PDFDANIELA LEANDRO REZENDEAinda não há avaliações
- Manual AntirracistaDocumento1 páginaManual AntirracistaOSWALDO JOSE MOREIRA SOTOAinda não há avaliações
- Caderno Antirracista Final 16 11Documento56 páginasCaderno Antirracista Final 16 11Paola RodriguesAinda não há avaliações
- Cotas Raciais - Porque SimDocumento45 páginasCotas Raciais - Porque SimScott SmithAinda não há avaliações
- Racismo EstruturalDocumento6 páginasRacismo EstruturalTaynara Quirino BatistaAinda não há avaliações
- A Quilombagem Como Expressão de Protesto RadicalDocumento17 páginasA Quilombagem Como Expressão de Protesto RadicalAndrea FranAinda não há avaliações
- Movimento Social Negro e Movimento QuilombolaDocumento18 páginasMovimento Social Negro e Movimento QuilombolaLuara SantosAinda não há avaliações
- A Solidão Da Mulher Negra Claudete Alves Da Silva SouzaDocumento174 páginasA Solidão Da Mulher Negra Claudete Alves Da Silva SouzaErica da SilvaAinda não há avaliações
- Codigos de Sociabilidade Lésbica No RJ Nos Anos 1960Documento11 páginasCodigos de Sociabilidade Lésbica No RJ Nos Anos 1960Maria Eugenia Perez CalixtoAinda não há avaliações
- ESCRAVIDÃO E DEPENDÊNCIA: Opressões e Superexploração Da Força de Trabalho BrasileiraDocumento354 páginasESCRAVIDÃO E DEPENDÊNCIA: Opressões e Superexploração Da Força de Trabalho BrasileiraThamiris Nascimento de SousaAinda não há avaliações
- Negro, Educação e Multiculturalismo - Texto FinalDocumento109 páginasNegro, Educação e Multiculturalismo - Texto FinalrenatospgAinda não há avaliações
- Lugar de Negro (Lélia Gonzalez, Carlos Hasenbalg) (Z-Library)Documento113 páginasLugar de Negro (Lélia Gonzalez, Carlos Hasenbalg) (Z-Library)fernandosantozAinda não há avaliações
- CARDOSO, Lourenço. O Branco Invisível PDFDocumento232 páginasCARDOSO, Lourenço. O Branco Invisível PDFsilva_ssAinda não há avaliações
- Audre Lorde em Sendo Uma Feminista Lésbica NegraDocumento4 páginasAudre Lorde em Sendo Uma Feminista Lésbica NegraRoberta VilelaAinda não há avaliações
- Cotas Raciais - Por Que Sim?Documento62 páginasCotas Raciais - Por Que Sim?Ibase Na Rede100% (2)
- Casta Racismo e Estratificação PDFDocumento15 páginasCasta Racismo e Estratificação PDFRegiane RegisAinda não há avaliações
- Cor, Hierarquia e Sistema de Classificação - Yvonne Maggie PDFDocumento12 páginasCor, Hierarquia e Sistema de Classificação - Yvonne Maggie PDFRômulo CastroAinda não há avaliações
- CARNEIRO, Sueli - Mulheres em Movimento, Contribuições Do Feminismo NegroDocumento10 páginasCARNEIRO, Sueli - Mulheres em Movimento, Contribuições Do Feminismo NegroRLeicesterAinda não há avaliações
- Vdocuments - Pub Power Point Racismo e Desigualdades Raciais No BrasilDocumento21 páginasVdocuments - Pub Power Point Racismo e Desigualdades Raciais No BrasilGISELE DE CASSIA IANKOSKIAinda não há avaliações
- Negros e Brancos em São Paulo, 1888-1988Documento424 páginasNegros e Brancos em São Paulo, 1888-1988Bryan Lucas100% (2)
- Aquilombar Se PDFDocumento204 páginasAquilombar Se PDFLaís SchonhorstAinda não há avaliações
- Violência Policial Contra Negros No Brasil e No Mundo PDFDocumento3 páginasViolência Policial Contra Negros No Brasil e No Mundo PDFLexas12345Ainda não há avaliações
- Somos Todos Miscigenados O Mito Da Democracia Racial Imposta No Período Da Ditadura Civil Militar No BrasilDocumento12 páginasSomos Todos Miscigenados O Mito Da Democracia Racial Imposta No Período Da Ditadura Civil Militar No BrasilGiselle SantosAinda não há avaliações
- A Homofobia No Ambiente de TrabalhoDocumento13 páginasA Homofobia No Ambiente de TrabalhoGuilherme Guedelha de BritoAinda não há avaliações
- FRY, P. O Que A Cinderela Negra Tem A Dizer Sobre A Política Racial No BrasilDocumento14 páginasFRY, P. O Que A Cinderela Negra Tem A Dizer Sobre A Política Racial No BrasilAline Ramos BarbosaAinda não há avaliações
- Novos Sujeitos, Pós-Identidades e DecolonialidadeDocumento409 páginasNovos Sujeitos, Pós-Identidades e DecolonialidadetamaniniufprAinda não há avaliações
- Afrobrasileiros, Cotas e Ação AfirmativaDocumento3 páginasAfrobrasileiros, Cotas e Ação AfirmativaRossQnaAinda não há avaliações
- Manual Comunicacao LgbtqiapnDocumento48 páginasManual Comunicacao LgbtqiapnLarissa BragaAinda não há avaliações
- A Face Quilombola Do Brasil (Alex Ratts)Documento23 páginasA Face Quilombola Do Brasil (Alex Ratts)Priscila BahiaAinda não há avaliações
- Decolonialidade e Perspectiva Negra PDFDocumento10 páginasDecolonialidade e Perspectiva Negra PDFFernando PocahyAinda não há avaliações
- Negritude Masculinidade Homoerotismo e e PDFDocumento21 páginasNegritude Masculinidade Homoerotismo e e PDFDiogo Marcal CirqueiraAinda não há avaliações
- CUNHA JR., Henrique. Quilombo - Patrimônio Histórico e Cultural PDFDocumento10 páginasCUNHA JR., Henrique. Quilombo - Patrimônio Histórico e Cultural PDFluaneAinda não há avaliações
- Manejo Clínico Das Repercussões Do Racismo Entre Mulheres Que Se "Tornaram Negras"Documento13 páginasManejo Clínico Das Repercussões Do Racismo Entre Mulheres Que Se "Tornaram Negras"leofn3-1Ainda não há avaliações
- Racismo TadeuDocumento20 páginasRacismo TadeuNilciane RaquelAinda não há avaliações
- Racismo Institucional - Apontamentos IniciaisDocumento17 páginasRacismo Institucional - Apontamentos IniciaisMoisesAinda não há avaliações