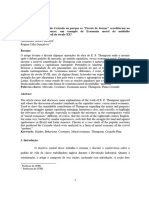Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Alfred Marshall - Principios de Economia - Vol I - Os Economistas
Alfred Marshall - Principios de Economia - Vol I - Os Economistas
Enviado por
alasilvaadvDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Alfred Marshall - Principios de Economia - Vol I - Os Economistas
Alfred Marshall - Principios de Economia - Vol I - Os Economistas
Enviado por
alasilvaadvDireitos autorais:
Formatos disponíveis
OS ECONOMISTAS
ALFRED MARSHALL
PRINCPIOS DE ECONOMIA
TRATADO INTRODUTRIO
Natura Non Facit Saltum
VOLUME I
I ntroduo de Ottol my Strauch
Traduo revista de Rmul o Al mei da e Ottol my Strauch
Fundador
VI CTOR CI VI TA
(1907 - 1990)
Edi tora Nova Cul tural Ltda.
Copyri ght desta edi o 1996, C rcul o do Li vro Ltda.
Rua Paes Leme, 524 - 10 andar
CEP 05424-010 - So Paul o - SP
T tul o ori gi nal :
Principles of Economics: An I ntroductory Volume
Di rei tos excl usi vos sobre a Apresentao de autori a
de Ottol my Strauch, Edi tora Nova Cul tural Ltda.
I mpresso e acabamento:
DONNELLEY COCHRANE GRFI CA E EDI TORA BRASI L LTDA.
DI VI SO C RCULO - FONE (55 11) 4191-4633
I SBN 85-351-0913-7
INTRODUO
(Ensaio biobibliogrfico sobre Alfred Marshall)
A verdade bi ogrfi ca i ndevassvel
(Freud a Arnol d Zwei g)
Marshal l pertence, l egi ti mamente, l i nhagem dos grandes mes-
tres fundadores da Economi a Pol ti ca Cl ssi ca i ngl esa Adam Smi th,
Ri cardo, J. S. Mi l l , corrente de pensamento das mai s fecundas que,
brotando da Revol uo I ndustri al , expandi u-se no scul o XI X e es-
prai ou-se at nossos di as por rami fi caes e canai s doutri nri os os
mai s di versos. Essa corrente teve trs pocas di sti ntas: a Cl ssi ca pro-
pri amente di ta, a Ri cardi ana e a Marshal l i ana ou Ri cardi ana-Refor-
mada.
1
Os Princpios de Economia de Marshal l consti tuem, juntamente
com A Riqueza das Naes de Adam Smi th, e os Princpios de Ri cardo,
um dos grandes di vi sores de guas no desenvol vi mento das i di as eco-
nmi cas,
2
representando a transi o da anti ga para a moderna Eco-
nomi a. Na hi stri a do pensamento econmi co, Marshal l tem um l ugar
proemi nente, sendo consi derado o chefe da chamada escol a neocl ssi ca
de Cambri dge; t tul o, al i s, a que el e jamai s se arrogou, embora fosse
consci ente de sua posi o hegemni ca no mundo angl o-saxni co, o que
expl i ca mui to do que el e fez e do que se omi ti u.
Segundo a conheci da rvore Geneal gi ca da Economi a traada
por Samuel son,
3
Adam Smi th (1723-1790), gni o tutel ar da escol a cl s-
si ca, gerou Davi d Ri cardo (1772-1883), o pai de todos, que gerou duas
5
1 SHOVE, G. F. The Pl ace of Marshal l s PRI NCI PLES i n the Devel opment of Economi c
Theory. I n: Economic Thought An Historical Anthology. GHERI TY, James A. (ed.).
New York, Random House, 1965. p. 453 (publ i cado ori gi nal mente no Economic J ournal.
LI I , 1942. p. 284-329).
2 SHOVE. Loc. cit.
3 I ntroduo Anlise Econmica. 8 ed., Ri o de Janei ro, Agi r Edi tora, 1975.
correntes opostas: uma, ortodoxa, personi fi cada em John Stuart Mi l l
(1806-1876) e nos neocl ssi cos Lon Wal ras (1834-1910), Wi l l i am Stan-
l ey Jevons (1835-1882), e Al fred Marshal l (1842-1924), a qual gerou
John Maynard Keynes (1883-1946), de quem provi eram, por sua vez,
os neo e os ps-keynesi anos dos nossos di as; outra, heterodoxa,
representada por Karl Marx (1818-1883) e seus descendentes soci a-
l i stas ci ent fi cos mati zados de hoje. Esses doi s ramos d spares, e seus
rebentos de di ferentes graus de l egi ti mi dade ou bastardi a em rel ao
aos seus respecti vos troncos hi stri co-doutri nri os, consti tuem a teori a
e a prti ca da Economi a contempornea.
A contri bui o de Marshal l ao progresso da ci nci a econmi ca ,
sem dvi da, de i mportnci a hi stri ca. Herdei ro da ri ca herana i nte-
l ectual dos economi stas e pensadores dos scul os XVI I I e XI X, tanto
da Gr-Bretanha quanto do resto do conti nente europeu, ex mi o ma-
temti co, versado em Ci nci as Naturai s, Fi l osofi a, Hi stri a e cl ssi cos
da Anti gui dade greco-romana, Al fred Marshal l si stemati zou e quanti -
fi cou o materi al de Adam Smi th e Ri cardo, compl ementando-o e tor-
nando seus pri nc pi os e concei tos operaci onai s, ou seja, na l i nguagem
tecnol gi ca de hoje, reci cl ou-os, tornando-os computvei s. I novando
ou si mpl esmente si stemati zando em matri a doutri nri a e de metodo-
l ogi a da anl i se econmi ca, procurou despojar a Economi a Pol ti ca or-
todoxa de seu pretenso dogmati smo, uni versal i dade e i ntemporal i dade,
submetendo seus postul ados a um ri goroso tratamento ci ent fi co, es-
peci al mente di agramti co e matemti co, sendo consi derado, a justo
t tul o, um dos precursores, com Cournot e Wal ras, do que hoje cha-
mamos de Econometri a. Marshal l contri bui u, tambm, e sobretudo,
para reabi l i tar e humani zar a Economi a Pol ti ca que, no curso da Revo-
l uo I ndustri al , cri ara um m ti co homo economicus, l obo de seu seme-
l hante, movi do excl usi vamente pel o i nteresse pessoal na l uta pel a sobre-
vi vncia do mais forte, num darwi ni smo soci al i mpi edoso e i ncessante.
Para Marshal l , a Economi a com suas anl i ses e l ei s no era um
corpo de dogmas i mutvei s e uni versai s, e de verdade concreta, mas
uma mqui na para a descoberta da verdade concreta. Keynes, seu
di sc pul o di l eto em Cambri dge e seu mai s emi nente bi grafo, refere-se
sua descoberta de um compl eto si stema coperni cano no qual todos
os el ementos do uni verso econmi co so manti dos em seus l ugares por
mtuo contrapeso e i nterao.
4
O prpri o Marshal l , al i s, j expri mi a
essa concepo das posi es mutuamente dependentes dos fatores eco-
nmi cos, mesmo antes da publ i cao dos Princpios, comparando o uni -
OS ECONOMISTAS
6
4 "Al fred Marshal l , 1842-1924". I n: The Economic J ournal. XXXI V, n 135, setembro de 1924,
p. 350. Republ i cado em Memorials of Alfred Marshall, ed. por A. C. Pi gou, 1925, e nos
Essay in Biography, 1933, do prpri o Keynes. Nesse estudo, a mai s compl eta bi ografi a de
Marshal l , consi derado por Schumpeter uma das notvei s obras-pri mas da l i teratura bi o-
grfi ca, basei a-se, em grande parte, o presente ensai o bi obi bl i ogrfi co.
verso econmi co ao si stema sol ar. Assi m como o movi mento de todo
corpo no si stema sol ar afeta e afetado pel o movi mento de todo outro,
assi m com os el ementos do probl ema da Economi a Pol ti ca.
5
Ai nda na opi ni o de Keynes, Marshal l foi , como ci enti sta, dentro
de seu campo prpri o, o mai or do mundo por cem anos.
6
Summa
Economica e compndi o bsi co para geraes sucessi vas de estudantes,
professores e economi stas profi ssi onai s, seus Princpios seri am, segundo
al guns, a ni ca obra a conter toda a ci nci a econmi ca de seu tempo.
Est tudo em Marshal l era voz corrente nos c rcul os acadmi cos
dos pa ses de l ngua i ngl esa e de grande parte da Europa conti nental ,
onde sua i nfl unci a predomi nou, i nquesti onvel , at recentemente, ten-
do ati ngi do seu zni te no pri mei ro quartel deste scul o, a chamada
poca marshal l i ana por excel nci a.
Sua sombra gi gantesca projeta-se at hoje sobre ns, reconheceu
Schumpeter,
7
um dos seus mai s l ci dos e severos cr ti cos. E essa sombra
s tende a crescer na medi da em que, na cri sta da onda neoconserva-
dora, a ortodoxi a pol ti ca refl ui r ortodoxi a econmi ca. Ai nda que sob
essa i nspi rao a rel ei tura dos cl ssi cos da Economi a Pol ti ca, em busca
das fontes ori gi nai s do fundamental i smo econmi co, ser sal utar e,
para al guns, surpreendente. Ver-se-, por exempl o, que Adam Smi th
ti nha opi ni es heterodoxas como a dos maus efei tos dos al tos l ucros
sobre a el evao dos preos, que o l ucro um deduo do produto do
trabal ho, que o trabal hador o ni co produtor de val or e o trabal ho,
portanto, a medi da real do val or de troca de todas as mercadori as.
Ri cardo, por sua vez, fazi a do trabal ho o estal o e a fonte cri adora de
ri queza, al m de haver apontado, pel a pri mei ra vez, para a expropri ao
da mai s-val i a da mo-de-obra. Stuart Mi l l foi mai s al m, poi s era
parti dri o da i nterveno do Estado na economi a para coi bi r os abusos
do laissez-faire no mercado e acabou procl amando-se soci al i sta. Quanto
ao nosso Marshal l , sua obra, sob o ri gor da densa e si stemti ca anl i se
econmi ca, est i mpregnada da questo soci al , i nterrogando-se cons-
tantemente sobre se real mente haveri a necessi dade de exi sti rem pobres
para que houvessem ri cos, consi derando a suprema fi nal i dade da eco-
nomi a Pol ti ca el uci dar essa questo cruci al . E at mesmo Marx, no
extremo oposto do espectro doutri nri o, rel i dos seus prpri os escri tos
em confronto com a vulgata de seus supostos i ntrpretes, adeptos ou
adversri os, cuja i nterpretao, como a dos tel ogos, passa por dogma
excl usi vo, acaba-se concordando com o prpri o em que, afi nal , el e no
era marxi sta...
MARSHALL
7
5 Arti go de Marshal l de cr ti ca Political Economy de Jevons, publ i cado em The Academy
em 1872, um dos doi s ni cos arti gos de cr ti ca que Marshal l jamai s publ i cou; o outro versa
sobre Mathematical Psychics de Edgeworth em 1881, apud Keynes, ibid.
6 Loc. cit. p. 321.
7 "Al fred Marshal l s Principles: A Semi -Centenni al Apprai sal ". I n: Ten Great Economists
from Marx to Keynes. Nova York, Oxford Uni versi ty Press, 1951. p. 91.
Um eminente vitoriano
A bi ografi a de Marshal l , i sto , a cronol ogi a de sua vi da, nada
mai s que a mol dura de sua obra como, vi a de regra, s acontece com
os grandes pensadores e arti stas, com as raras e hi stri cas excees
de todos conheci das. No h em sua vi da aconteci mentos que tenham
si gni fi cado prpri o, seno em funo de sua obra. De resto, em si a
verdade bi ogrfi ca i ndevassvel (como escreveu Freud a Arnol d
Zwei g). Sua vi da transcorreu, mansa e tranqi l a, ao l ongo de duas
vertentes pacato professor e economi sta i novador , a exempl o de
Adam Smi th; vertentes, al i s, convergentes, j que el e ti nha por hbi to
comuni car a seus col egas e di sc pul os, mui to antes de publ i c-l as, suas
cri aes no campo da economi a, e, por outro l ado, como economi sta
sempre teve a preocupao di dti ca de expl i car e ensi nar.
Al fred Marshal l nasceu em 26 de jul ho de 1842 em Cl apham
um bai rro ento apraz vel de Londres fi l ho de Wi l l i am Marshal l e
Rebeca Ol i ver, de cl asse mdi a. Seus ascendentes pel o l ado paterno
eram pri nci pal mente cl ri gos, al guns dos quai s ti veram certa notori e-
dade, tanto pel a pecul i ari dade de suas convi ces rel i gi osas como, no
caso de um del es notadamente, pel a descomunal fora f si ca. Seu pai
no segui u a tradi o fami l i ar, mas qui s que o fi l ho o fi zesse, o que
el e acabou no fazendo, como comum acontecer. Esse trao angl i cano,
porm, severo, ascti co e anti femi ni sta, especi al mente pronunci ado no
sr. Wi l l i am, marcou a formao do jovem Al fred, ori entada, a pri nc pi o,
para a ordenao cl eri cal . Mas no s el e no se ordenou, como nem
mesmo, por fi m, manteve-se crente; e a vi da reservou-l he ai nda a i rni ca
surpresa de l ev-l o a casar-se com uma das pri mei ras mul heres da
I ngl aterra a obter grau uni versi tri o a que sempre se ops por
questo de pri nc pi o e que, ademai s, foi professora de Economi a e
sua ati va col aboradora i ntel ectual .
Seu pai , carter resol uto e domi nador mas no cruel , em que a
ri spi dez era temperada pel a afei o fami l i ar, era um evangel i sta e
anti femi ni sta mi l i tante, autor j na vel hi ce (morreu com 92 anos) de
um panfl eto si gni fi cati vamente i nti tul ado Os Di rei tos do Homem e
os Deveres da Mul her. Ocupando a posi o de certo rel evo de Cai xa
do Banco da I ngl aterra, proporci onou ao fi l ho uma i nfnci a de rel ati vo
conforto mas exerceu despti ca i nfl unci a nos pri mei ros estgi os de
sua educao, fi nanci ada, no entanto, at o fi m por bol sas, aux l i o
de parentes e aul as parti cul ares. Obri gava Al fred a estudar, at al tas
horas da noi te, hebrai co (ento preparatri o para a carrei ra ecl esi s-
ti ca), que el e detestava e proi bi a-o, termi nantemente, de prati car suas
recreaes predi l etas a Matemti ca, e o xadrez, consi deradas fri -
vol i dades oci osas; proi bi es essas que, em rel ao pri mei ra, o jovem
desobedeci a si stemti ca e secretamente mas que, quanto segunda,
el e respei tou a vi da i ntei ra, exceto quanto l ei tura, j adul to, de pro-
OS ECONOMISTAS
8
bl emas de xadrez. Esse control e e represso paternal teve um efei to
marcante e duradouro sobre Marshal l . Sua pronunci ada tendnci a para
a hi pocondri a, sua rel utnci a em comprometer-se i nequi vocamente em
publ i car sem reservas e restri es maci amente documentadas, seu
temor i ndol nci a e a oci osi dade, sua rejei o fundamental de ati vi -
dades de puro prazer" (tal como a Matemti ca) tm suas ra zes nas
experi nci as de sua i nfnci a e juventude" a observao de Corry.
8
A que Keynes acrescenta: A heredi tari edade poderosa e Marshal l
no escapou de todo da i nfl unci a do mol de paterno. Um senso enrai -
zado de predom ni o em rel ao ao gnero femi ni no l utava nel e com
uma profunda afei o e admi rao que senti a por sua prpri a mul her,
e com um mei o que o l anou em contato estrei to com a educao e a
l i berao das mul heres.
9
Bem, i sso o quanto basta sobre os antece-
dentes fami l i ares de Marshal l e a i nfl unci a sobre a sua personal i dade.
Aos nove anos de i dade, fez seus estudos de l etras e l nguas
cl ssi cas num reputado estabel eci mento de ensi no (Merchant Tayl ors
School ), graas a uma bol sa que seu pai , percebendo sua capaci dade,
obteve de um di retor do Banco da I ngl aterra. Pel a di sti no com que
fez esse curso, que abrangi a a Matemti ca at o n vel de cl cul o di -
ferenci al , teri a Al fred di rei to a uma bol sa de estudos cl ssi cos na
Uni versi dade de Oxford, requi si to bsi co para a sua ordenao na I greja
Angl i cana, a que, como foi di to, estava desti nado pel o pai . El e, porm,
rejei tou o des gni o paterno, rebel ando-se no propri amente contra a
teol ogi a ortodoxa mas contra o prossegui mento de estudos cl ssi cos, e
foi fazer um curso superi or de Matemti ca no St. Johns Col l ege da
Uni versi dade de Cambri dge, com di nhei ro emprestado por um ti o, em-
prsti mo que, uma vez formado, pagou em um ou doi s anos, dando
aul as parti cul ares de Matemti ca.
Al i s, esse i nstrumental ci ent fi co foi a vi da i ntei ra seu violon
dI ngres, poi s, se consegui u consagrar-se como emri to economi sta, foi
sempre, no entanto, basi camente um excel ente e exempl ar matemti co.
Meni no ai nda j l i a l i vros da matri a, escondi do do pai , que fel i zmente,
di zi a Marshal l , nada entendi a do assunto. El e ti nha um gni o para
a Matemti ca, reconheceu um dos seus pri mei ros professores, na Mer-
chant School . Em Cambri dge foi um dos mai s bri l hantes estudantes
da matri a de sua gerao. El e prpri o recorda o jovem teri co que
em 1869, com 27 anos, portanto, costumava pensar em matemti ca
mai s faci l mente do que em i ngl s.
A Matemti ca foi a sua vocao bsi ca, seu pri mei ro ganha-po,
e j quando economi sta seu pri nci pal i nstrumento anal ti co e metodo-
l gi co, al m de ter si do seu cami nho de acesso Economi a. Foi graas
MARSHALL
9
8 CORRY, Bernard. Marshal l , Al fred. I n: I nternational Encyclopedia of the Social Sciences.
SI LLS, Davi d S. (ed.) The Macmi l l an Company The Free Press, 1968. v. 10, p. 25.
9 I bid, p. 312.
a el a que consegui u transformar o materi al de Adam Smi th, Davi d
Ri cardo e Stuart Mi l l , em uma mqui na moderna de pesqui sa. Os
al i cerces e o arcabouo semi -ocul to de sua obra so matemti cos. Sua
d vi da para com a Matemti ca, seu grande al i ado i mpessoal , i mensa
e, segundo al guns, jamai s resgatada, poi s que nunca l he foi sufi ci en-
temente reconheci do e grato. A verdade que sua ati tude em face da
Matemti ca, ou mel hor, do seu emprego na Economi a, foi ambi val ente,
rel egando-a, aparentemente, a um pl ano secundri o, confi nando, em
suas obras, os di agramas a notas de rodap e as equaes a apndi ces.
Mas sua concepo dos usos e abusos da Matemti ca em Economi a, o
que hoje se chama Econometri a, ser mel hor expl anada quando for
abordada a sua obra como economi sta. Retomemos, enquanto i sso, o
curso de sua vi da.
Uma vez concl u do, com di sti no, o curso de Matemti ca em
1865, passou i medi atamente a dar aul as dessa ci nci a como professor
ti tul ar no Cl i fton Col l ege, por um breve per odo, e, em segui da, como
preparador (ou expl i cador) para os cursos regul ares de Matemti ca em
Cambri dge, ao mesmo tempo que estudava Fi l osofi a, especi al mente
Kant e Hegel . A , pri nci pal mente sob a i nfl unci a de al guns professores
uni versi tri os que se preocupavam com os probl emas soci ai s provocados
pel a Revol uo I ndustri al e que se reuni am i nformal mente numa So-
ci edade de Debates (Grote Club), foi se afastando gradual mente da
Metaf si ca, da ti ca e da Psi col ogi a, que estavam ento nas frontei ras
das Ci nci as Soci ai s. Abandonou defi ni ti vamente a rel i gi o, tornando-se
agnsti co, embora perdurasse, por toda a vi da, o substrato angl i cano
de sua formao. Foi por essa poca que se processou a l ai ci zao do
ensi no uni versi tri o, j que s na segunda metade do scul o XI X
que foram abol i dos nas uni versi dades i ngl esas, Cambri dge i ncl usi ve,
os exames de Teol ogi a para todos os al unos, exceto os dos cursos dessa
matri a. Marshal l passou ento a preocupar-se com a questo soci al ,
sendo l evado percepo de que a pobreza estava na rai z de mui tos
mal es soci ai s, o que acabou conduzi ndo-o ao estudo da Economi a. Ma-
tri a para a qual , como mui tos dos grandes economi stas contempor-
neos, nunca fez curso uni versi tri o regul ar e especi al i zado, j que na
poca a matri a no exi sti a seno como compl emento de outros cursos,
tal qual como no Brasi l de al gumas dcadas atrs. Segundo a sua
convi co, que manteve i nal terada pel a vi da i ntei ra, o probl ema da
pobreza era no somente fundamental para a Economi a como a sua
prpri a razo de ser. Como el e prpri o vi ri a mai s tarde a di zer nos
Princpios: o estudo das causas da pobreza o estudo das causas da
degradao de uma grande parte da Humani dade.
Tal como seu contemporneo Karl Marx, Marshal l passou da Fi -
l osofi a para a Economi a, s que no seu caso foi pel a vi a matemti ca.
Descrevendo sua passagem para a Economi a, recordava el e j no fi nal
da vi da: Da Metaf si ca fui para a ti ca, e achei que a justi fi cati va
OS ECONOMISTAS
10
das condi es exi stentes da soci edade no era fci l . Um ami go, com
quem di scuti a questes soci ai s, retrucou-l he um di a: Voc no di ri a
i sso se soubesse Economi a. Sua i ni ci ao no campo econmi co proces-
sou-se, segundo el e prpri o, da segui nte forma: Mi nha fami l i ari zao
com a Economi a comeou com a l ei tura de Mi l l , enquanto ai nda estava
ganhando mi nha vi da ensi nando Matemti ca em Cambri dge, e tradu-
zi ndo suas concepes em equaes di ferenci ai s at onde pudesse i r;
e, em regra, rejei tando aquel as que a i sso no se prestassem... I sso
foi , pri nci pal mente, em 1867/68".
10
Enquanto estava dando aul as par-
ti cul ares de Matemti ca, traduzi o quanto poss vel os raci oc ni os de
Ri cardo para a Matemti ca e empenhei -me em torn-l os mai s gerai s".
11
Em 1868, ai nda com resqu ci os da fase metaf si ca, l evado pel o
desejo de poder l er Kant no ori gi nal , foi aperfei oar seu conheci mento
da l ngua na Al emanha, onde entrou em contato com economi stas al e-
mes, especi al mente Roscher. Nessa mesma data cessou o professorado
de Matemti ca e passou a exercer a l i vre-docnci a de uma nova cadei ra
no curr cul o de Ci nci as Morai s, cri ada em St. Johns especi al mente
para que el e pudesse dar aul as de Economi a Pol ti ca e Lgi ca.
poss vel ver que espci e de jovem era el e nessa poca; l embra
al gum que o observou de perto bri l hante matemti co, um jovem
fi l sofo carregando uma carga i ndi gesta de Metaf si ca al em, Uti l i ta-
ri smo e Darwi ni smo; um humani tari sta com senti mentos rel i gi osos mas
sem credo, ansi oso por al i vi ar o fardo da Humani dade mas moderado
pel as barrei ras revel adas pel a Economi a Pol ti ca ri cardi ana v-se
o substrato de um homem que se tornou para seus al unos sbi o e
pastor tanto quanto um ci enti sta, cujo ponto de vi sta ci ent fi co e objeti vo
era dar Economi a uma renovada postura pbl i ca, cuja si mpati a para
com a reforma soci al l evava-o a querer derrotar os que a el a se opu-
nham, cujas al tas apti des deveri am ser zel osamente devotadas sua
amante i ntel ectual como as de um arti sta sua musa.
12
Durante os nove anos segui ntes Marshal l conti nuou em Cam-
bri dge l eci onando Economi a Pol ti ca e Lgi ca e el aborando as bases
de seu pensamento econmi co. Costumava passar as fri as nos Al pes
su os, fortal ecendo o corpo e o esp ri to, hbi to que conservou a vi da
i ntei ra, l evando uma grande cai xa de l i vros, dentre os quai s a sra.
Marshal l l embra Goethe, Hegel , Kant e Herbert Spencer, quando ai nda
em sua fase fi l osfi ca. Mai s tarde, j tendo i ngressado no campo da
Economi a, comeou a desenvol ver nessas excurses suas teori as sobre
Comrci o I nterno e Exteri or. El e fazi a suas refl exes mai s profundas
MARSHALL
11
10 Memorials of Alfred Marshall. PI GOU, A. C. (ed.). Nova York, Kel l ey, 1966. p. 412.
11 Carta a J. Bonar. I n: Memorials. p. 374.
12 HOMAN, P. T. Contemporary Economic Thought. p. 197-198. Apud GUI LLEBAUD, G. W.
Alfred Marshall Principles of Economics. 9 ed. (Vari orum), Edi tori al I ntroducti on, Lon-
don, Macmi l l an, 1961.
nesses passei os sol i tri os nos Al pes, e per odos de Wanderjahre, como
os chamava a sra. Marshal l , l embrando ai nda que Marshal l sempre
fez o seu mel hor trabal ho ao ar l i vre, mesmo quando em Cambri dge.
Em 1875 Marshal l vi si tou os Estados Uni dos por quatro meses
com o propsi to de estudar o probl ema do Proteci oni smo em um pa s
novo. Percorreu todo o l este e foi at San Franci sco. Esteve nas Uni -
versi dades de Harvard e Yal e, e manteve l ongas conversaes com
economi stas acadmi cos e contatos com fi guras proemi nentes. Vol tou
entusi asmado com a vi tal i dade i ndustri al do pa s.
J ento preocupava-se em dar ao ensi no da Economi a Pol ti ca
mai or autonomi a e status, col aborando nesse senti do com os professores
ti tul ares Fawcett e Si dwi g. A el es juntaram-se anti gos al unos seus,
tai s como H. S. Foxwel l e John Nevi l l e Keynes (pai do famoso econo-
mi sta), os quai s se tornaram, mai s tarde, conferenci stas em Economi a
Pol ti ca na Uni versi dade. Esses esforos acabaram por serem coroados
de xi to, graas pri nci pal mente a Marshal l , como se ver em segui da.
Em 1877 casou-se com Mary Pal ey, sua anti ga al una de Economi a
Pol ti ca e que mai s tarde l eci onari a a matri a no col gi o femi ni no de
Newham em Cambri dge. Admi rvel fi gura humana uma das pri -
mei ras mul heres i ngl esas a obter grau uni versi tri o , Mary Pal ey
foi uma companhei ra exempl ar para Marshal l e sua ati va col aboradora
i ntel ectual . Todos os professores e al unos que freqentavam a casa
dos Marshal l so unni mes em el ogi ar suas qual i dades humanas e
i ntel ectuai s. Manti nha-se, no entanto, em segundo pl ano pel o senso
de devoo e o reconheci mento da superi ori dade do mari do, dedi can-
do-se i ntei ramente quel e que el a achava que ti nha al go de mai s i m-
portante a di zer e a escrever, e que, provavel mente, no o teri a fei to
to bem sem a sua i ntel i gente e ati va col aborao durante os quarenta
e sete anos em que esti veram casados. Marshal l , al i s, no prefci o
8 edi o dos Princpios reconhece expressamente que sua mul her o
ajudou e aconsel hou nas sucessi vas edi es da obra.
Segundo os regul amentos uni versi tri os ento vi gentes, Marshal l
ao casar-se foi obri gado a abri r mo da posi o que ocupava em St.
Johns. Assi m, dei xou Cambri dge e foi para Bri stol como di retor do
Col gi o Uni versi tri o estabel eci do pel a Uni versi dade de Oxford e pro-
fessor de Economi a Pol ti ca. Dava aul as noi te para jovens homens
de negci os, enquanto sua mul her l eci onava a mesma matri a, de ma-
nh, para turmas compostas pri nci pal mente de mul heres. Foi a , em
1879, que publ i cou seu pri mei ro l i vro, Economics of I ndustry, em co-
l aborao com a sra. Marshal l (e que , na verdade, mai s del a do que
del e), um pequeno compndi o concebi do como manual para uso no curso
de extenso da Uni versi dade de Oxford em Bri stol . Antes, porm, mas
nesse mesmo ano, Henry Si dwi ck publ i cou, com permi sso de Marshal l
para ci rcul ao restri ta, um fol heto com al guns cap tul os, no conse-
cuti vos, de um tratado que Marshal l pretendi a escrever sobre a Theory
OS ECONOMISTAS
12
of Forei gn Trade, wi th some al l i ed probl ems rel ati ng to the theory of
laissez-faire e que nunca foi publ i cado; mas suas partes mai s i mpor-
tantes foram i ncorporadas aos Princpios. Esteve empenhado nesse es-
tudo de 1869 a 1877, abandonando-o para col aborar na fei tura do Eco-
nomics of I ndustry.
13
Em 1881 Marshal l , por moti vo de sade (cl cul o renal ), dei xou
o cargo de Di retor do Col gi o Uni versi tri o em Bri stol e foi recuperar-se
na I tl i a, onde permaneceu durante um ano e, no obstante, conti nuou
seus trabal hos de Economi a. Retornando a Bri stol em 1882, onde ai nda
era professor de Economi a Pol ti ca, estava com a sade compl etamente
restaurada mas passou a mani festar uma acentuada tendnci a hi po-
condr aca, consi derando-se sempre bei ra da i nval i dez, embora se man-
ti vesse fi rme e i ntel ectual mente ati vo at os l ti mos anos de sua vi da.
Graas ami zade com o dr. Jowett, Di retor de Bal l i ol , da Uni -
versi dade de Oxford, mui to i nteressado em Economi a e que costumava
di scuti r assuntos econmi cos quando se hospedava na casa de Marshal l
em Bri stol , tornou-se, em 1883, l i vre-docente de Economi a Pol ti ca em
Bal l i ol , dando aul as para candi datos ao Servi o Ci vi l da ndi a. Sua
carrei ra em Oxford foi breve e bri l hante atra a al unos dos mai s
tal entosos e suas prel ees pbl i cas eram assi sti das por mai ores e
mai s entusi sti cas cl asses do que em qual quer outro per odo de sua
vi da. Tomava parte em debates pbl i cos e adqui ri u crescente prest gi o
nos c rcul os uni versi tri os.
Em janei ro de 1885, no entanto, vol tou para Cambri dge como
professor ti tul ar de Economi a Pol ti ca, em substi tui o a Henry Faw-
cett, que morrera no ano anteri or, ctedra que at hoje est l i gada
i ndi ssol uvel mente ao seu nome e que ocupou por vi nte e trs anos at
aposentar-se em 1908, para dedi car-se excl usi vamente sua obra de
economi sta. Ti nha ento 66 anos e vi veu ai nda mai s dezessei s anos
em Balliol Croft, vi venda que construi u em Medi ngl ey Road (endereo
que fecha o Prefci o 8 e defi ni ti va edi o dos seus Princpios) e
onde morreu em 13 de jul ho de 1924, pouco antes de compl etar 82
anos de i dade. A casa, com a bi bl i oteca, foi l egada Uni versi dade de
Cambri dge, onde se encontram seus manuscri tos e obras i ndi tas, ai nda
uma vez mai s graas sua vi va, que preservou a sua memri a de
todos os modos, fornecendo, i ncl usi ve, a Keynes notas e apontamentos
de Marshal l e del a prpri a que l he permi ti ram escrever a obra-pri ma
que a bi ografi a de seu anti go mestre e ami go, um monumento perene
ao qual el e tanto devi a.
Marshal l , tal como Samuel son hoje,
14
gostava tanto de estudar
MARSHALL
13
13 Al guns fragmentos do manuscri to ori gi nal esto guardados na Bi bl i oteca Marshal l em
Cambri dge. O fol heto foi rei mpresso em fac-s mi l e pel a London School of Economi cs em
1930 como o n 1 de sua sri e Repri nts of Scarce Tracts i n Economi cs and Pol i ti cs.
14 Newsweek. 24-12-80.
Economi a quanto de ensi n-l a. Professor a vi da i ntei ra, mesmo quando
abandonou formal mente o ensi no ao aposentar-se da ctedra, refl ete
a preocupao di dti ca em suas obras, as quai s pretendi a que fossem
entendi das pel o mai or nmero poss vel de l ei tores, especi al mente por
essa fi gura m ti ca do homem comum de negci os. Da a l i nguagem
cl ara e conci sa, a preci so dos concei tos, a factual i dade da exempl i fi -
cao, extra da, tanto quanto poss vel , da vi da corrente e evi tando,
sobretudo, o uso abusi vo da Matemti ca no curso da exposi o.
Tanto como professor uni versi tri o quanto como economi sta,
Marshal l foi uma fi gura si ngul ar. Pri mei ro, pel a i mensa e hegemni ca
i nfl unci a que exerceu sobre geraes de economi stas, al guns seus an-
ti gos di sc pul os, que adqui ri ram renome uni versal , dentre os quai s,
para s ci tar doi s dos mai s proemi nentes, Pi gou, que o substi tui u em
Cambri dge, e Keynes que, parti ndo de al gumas i di as bsi cas de seu
vel ho mestre, revol uci onou a teori a e a pol ti ca econmi cas na pri mei ra
metade de nosso scul o. Em segundo l ugar, pel a prpri a si ngul ari dade
de seus mtodos pedaggi cos. Como no gostasse de l eci onar para tur-
mas grandes e possi vel mente desi nteressadas, procurava di mi nui r o
nmero de al unos que acorri am ao seu curso, reduzi ndo-o aos real mente
i nteressados na matri a, adverti ndo l ogo nas pri mei ras aul as que, se
vi essem apenas com a esperana de se prepararem para passar nos
exames, desi sti ssem prontamente porque al i no era o l ugar para i sso.
Na verdade, Marshal l no transmi ti a propri amente i nformaes, achan-
do que i sso era funo dos l i vros, mas obri gava os al unos a refl eti r e
concl ui r, despertando-l hes, al m do gosto pel a matri a, a especul ao
e a compreenso dos probl emas. Nada de aul as magi strai s, pronun-
ci amentos dogmti cos do ti po magister dixit mas, antes, provocando o
esp ri to de anl i se e cr ti ca, a desconfi ana das causas aparentes e,
sobretudo, mel odramti cas, quase nunca verdadei ras. Seu mtodo de
ensi no era al go mai uti co: pel a anl i se e cr ti ca al canar a verdade,
antes do que pel o processo de mera transmi sso e assi mi l ao de si m-
pl es i nformao. Era al go semel hante ao mtodo do prof. Tobi ns, recente
Prmi o Nobel de Economi a: ajudar o al uno, por mei o da proposi o de
teses e questes, a chegar a concl uses corretas por seu prpri o esforo
de raci oc ni o. Raramente l evava apontamentos para as aul as e quase
nunca os consul tava, sendo suas prel ees de certo modo assi stemti cas
e fragmentri as, di fi cul tando ou mesmo i mpossi bi l i tando os al unos de
tomarem notas e organi zarem smul as. Preferi a antes di ssertar, ou
mel hor, di vagar sobre temas e probl emas di versos, nem sempre conexos,
procurando anal i s-l os com os al unos, demonstrando tanto a sua rea-
l i dade quanto a compl exi dade de suas causas e efei tos. Quando causas
e efei tos fazem combi naes mel odramti cas, os hi stori adores os l i gam,
suspei tem da conexo, di zi a, conforme um dos seus di sc pul os, que
l embra ai nda: el e gostava de contrastar as causas supostas e reai s
dos aconteci mentos, real ar a si gni fi cao dos fatos ocul tos ou i gnorados
OS ECONOMISTAS
14
a causa i nsuspei ta, essa di mi nuta ci rcunstnci a, essa coi nci dnci a
negl i genci ada, mudou o curso da Hi stri a. Embora no ti vesse grande
amor pel a Hi stri a, suas general i zaes e i nterpretaes hi stri cas
eram de grande ori gi nal i dade e i nteresse, e soube que el e pensou, certa
vez, em escrever um extenso tratado de Hi stri a Econmi ca.
15
Ri goroso nos exames e na correo dos trabal hos escol ares, fa-
zendo comentri os cr ti cos ou el ogi osos entremeados de humor, foi , no
entanto, ami go paternal de seus al unos, ajudando-os na escol ha de
temas e na el aborao de teses, emprestando-l hes l i vros, recebendo-os
em sua casa para di scusso ou si mpl es conversa, e pagando de seu
parco bol so os estudos dos mai s carentes. Dei xou em todos os que l he
freqentaram as aul as uma i ndel vel i mpresso, um senti mento de
admi rao e ami zade fi l i al , e, sobretudo, a grati do no por l hes ter
ensi nado Economi a mas por l hes ter i ncuti do a vi so da i mportnci a,
compl exi dade e uni dade dos probl emas econmi cos, uma vi so nova e
fecunda de que se aprovei tari am para sempre.
Quando ai nda professor, Marshal l teve atuao destacada em
trs i mportantes movi mentos: 1) a fundao da Associ ao Econmi ca
Bri tni ca, agora Royal Economic Society; 2) a controverti da questo
da Graduao Uni versi tri a de Mul heres em Cambri dge, que agi tou
e di vi di u a Uni versi dade, controvrsi a na qual Marshal l , no obstante
ser em pri nc pi o favorvel emanci pao femi ni na, ops-se, i gual mente
por pri nc pi o, concesso de grau uni versi tri o a mul heres, para grande
decepo de seu c rcul o de ami gos l i berai s e progressi stas, ati tude que
s pode ser expl i cada pel o seu ancestral e entranhado preconcei to ma-
chi sta. Tal ati tude tanto mai s estranhvel num homem de sua cul -
tura e i ntel i gnci a quando el e ti nha em casa l embremo-nos o
exempl o de sua prpri a mul her, de formao uni versi tri a e que tanto
o ajudou i ntel ectual mente, para no ci tar o caso de tantas outras mu-
l heres que, na poca, se di sti ngui ram em di versos campos de ati vi dades,
tai s como as i rms Bront, George El i ot, Fl orence Ni ghti ngal e, Harri et
Beecher Stowe, Mary Ki ngsl ey (antropl oga e bi l oga que expl orou a
fri ca Oci dental ), James Barry (que, di sfarada de homem, formou-se
em Medi ci na em 1812 e, i ncgni ta, tornou-se um dos mai s hbei s ci -
rurgi es do Exrci to bri tni co); 3) cri ao da Escol a de Economi a de
Cambri dge, tornando o ensi no da Economi a i ndependente do curr cul o
de outros cursos (Ci nci as Morai s e Hi stri a), movi mento de evol uo
gradual que s se compl etou em 1903, pel o que Marshal l pode ser
consi derado, l egi ti mamente, o fundador dessa Facul dade (que no deve
ser confundi da com a corrente doutri nri a que del a deri vou, a escol a
neocl ssi ca de Cambri dge, de que el e foi , tambm, o fundador).
Vejamos agora Marshal l como o emi nente economi sta. Cabe res-
MARSHALL
15
15 BENI ANS, E. A. I n: Memorials. p. 78-80.
sal tar, i ni ci al mente, que a i mportnci a hi stri ca de sua obra contrasta
com a sua rel ati va exi gi dade, consi derando que sua ati vi dade i nte-
l ectual , sujei ta natural mente a hi atos peri di cos mas breves, comeou
cedo e estendeu-se prati camente at o fi m de sua vi da. As razes dessa
parci mni a so tanto de ordem ci rcunstanci al quanto pessoal : absoro,
a pri nc pi o, nas ati vi dades de magi stri o; duas ou trs i nterrupes
curtas por moti vo de doena, sendo que o probl ema de sade foi uma
das razes por el e al egadas, no Prefci o presente obra, para al terar
seus grandes projetos i ntel ectuai s; seu fl ego curto como tratadi sta,
contrari amente a Adam Smi th, por exempl o, fazendo-o vaci l ar por mui to
tempo sobre a mel hor manei ra de abordar um assunto se monogra-
fi camente ou au grand complet, dei xando al gumas obras de mai or fl ego
esboadas ou apenas i deal i zadas ; a extrema preocupao com a exa-
ti do e perfei o dos concei tos expressos; o hbi to de fazer ci rcul ar
oral mente entre col egas e al unos suas produes i ntel ectuai s, al gumas
das quai s foram publ i cadas parti cul ar e fragmentari amente em c rcul os
restri tos ou s i ncorporadas mui tos anos mai s tarde a seus escri tos;
a quase mrbi da susceti bi l i dade cr ti ca e controvrsi a, o que o
fazi a espaar e retardar demasi adamente a publ i cao em forma de-
fi ni ti va de seus escri tos teri cos.
A bi bl i ografi a compl eta dos trabal hos de Marshal l
16
compreende
81 i tens, dos quai s apenas uns poucos podem ser consi derados l i vros,
consti tu da a grande mai ori a de fol hetos, arti gos e depoi mentos perante
rgos governamentai s. Os l i vros so os segui ntes, em ordem cronol -
gi ca de publ i cao: 1) The Economics of I ndustry (1879), em col aborao
com Mary P. Marshal l , j menci onado anteri ormente e que mai s tarde
Marshal l reti rou de ci rcul ao por moti vos pessoai s no mui to cl aros,
al egando que no se pode vender barato a verdade; 2) Principles of
Economics (1890), que ser exami nado, detal hadamente, mai s adi ante;
3) Elements of Economics of I ndustry (1892), publ i cado como sendo o
pri mei ro vol ume de Elements of Economics (que no apareceu) e que,
conforme o prpri o autor, uma tentati va de adaptar o pri mei ro vo-
l ume dos meus Princpios de Economia necessi dade de pri nci pi antes.
Al guns trechos foram reti rados do Economics of I ndustry; 4) I ndustry
and Trade: A Study of I ndustry Technique and Business Organization,
and of Their I nfluences on the Conditions of Various Classes and Na-
tions (1919) , como di z Marshal l no Prefci o 8 edi o dos Princpios,
uma conti nuao desta obra e substi tui o prometi do I I vol ume que
nunca vei o l uz. uma obra notvel , comparvel sob todos os aspectos
aos Princpios, tanto na forma quanto no contedo; 5) Money, Credit
and Commerce (1923), consubstanci ando os pri mei ros estudos real i za-
dos por Marshal l e compl etados em 1875, sendo uma das duas pri nci pai s
OS ECONOMISTAS
16
16 KEYNES, J. M. Bi bl i ographi cal Li st on the Wri ti ngs of Al fred Marshal l . I n: The Economics
J ournal. v. XXXI V, n 136, dezembro de 1924. p. 627-637. Republ i cada no Memorials.
fontes de refernci a sobre a teori a monetri a de Marshal l ; 6) Official
Papers (1926), obra pstuma contendo trabal hos real i zados entre 1886
e 1903 e apresentados a rgos governamentai s; a mai s i mportante
das duas fontes de i nformao sobre as i di as monetri as de Marshal l .
Cabe ai nda menci onar Memorials of Alfred Marshall (1925), col etnea
de ensai os sobre Marshal l edi tada por Pi gou, al m da sel eo de al guns
de seus escri tos avul sos mai s i mportantes, republ i cando, ai nda, a bi -
bl i ografi a el aborada por Keynes.
Ao exami nar a obra de Al fred Marshal l deve-se ter em vi sta,
natural mente, as i nfl unci as predomi nantes na formao de seu pen-
samento sci o-econmi co. Assi m, sua condi o fami l i ar de pequeno-
burgus e o mol de ti co-rel i gi oso que essa condi o l he i mps desde
cedo so fatores no negl i genci vei s na apreci ao de suas concepes.
H que consi derar, i gual mente, o contexto hi stri co-cul tural de sua
poca, a l onga era vi tori ana, poi s, como bem observou Gi l l ebaud,
17
o pri nci pal per odo formati vo de sua vi da coi nci di a com o apogeu da
I ngl aterra Vi tori ana, e sob mui tos aspectos caracter sti cos el e era um
emi nente vi tori ano" (segundo a expresso consagrada pel o conheci do
l i vro de Lytton Strachey). Quando el e nasceu, l embra o ci tado autor,
Ri cardo ti nha morri do havi a apenas dezenove anos e Mal thus havi a
somente oi to; enquanto a pri mei ra edi o dos Princpios de Economia
Poltica (de Mi l l ) fora publ i cada em 1848, quando Marshal l ti nha sei s
anos de i dade. Jevons era quase sete anos mai s vel ho do que el e.
Marshal l foi , por consegui nte, contemporneo, ou quase contemporneo,
dos mai s famosos economi stas do scul o XI X. Mas el e no foi um emi -
nente vi tori ano apenas pel as ci rcunstnci as da contemporanei dade
com fi guras cl ebres da poca, mas tambm, e pri nci pal mente, porque
sua mental i dade foi fortemente marcada pel a i deol ogi a predomi nante
durante o l ongo rei nado da Rai nha Vi tri a (1837-1901). Essa i nfl unci a
tem mui to a ver com a sua vi so ti co-soci al , como tambm, natural -
mente, com a sua prpri a concepo econmi ca. At certos modi smos
vi tori anos, como por exempl o a tentati va pueri l de restaurar as prti cas
e o cdi go de honra da Caval ari a medi eval (mera justi fi cati va para a
oci osi dade da ari stocraci a, cuja ni ca ocupao era caar perdi zes e
raposas) e a i deal i zao da ci vi l i zao hel ni ca, encontraram nel e certa
si mpati a. Di ante do contedo ti co-soci al de sua obra, que exami na-
remos oportunamente, al gum di sse que nel a Cal vi no, a I greja Angl i -
cana e o esp ri to vi tori ano juntam-se numa si metri a si mbi ti ca.
Marshal l vei o da Fi l osofi a para a Economi a por preocupaes
ti co-soci ai s, ni co paral el o poss vel entre a sua bi ografi a i ntel ectual
e a do seu ant poda, Karl Marx. Comeou a estudar seri amente Eco-
nomi a em 1867, aos 25 anos portanto e, como i nforma Keynes, suas
MARSHALL
17
17 Loc. cit.
doutri nas caracter sti cas estavam bastante desenvol vi das em 1875, sen-
do que a parti r de 1883 j assumi am sua forma fi nal . Lembra ai nda
Keynes que a Political Economy de Mi l l apareceu em 1848, a 7 edi o
(a l ti ma revi sta pel o autor) de 1871 e Mi l l morreu em 1873. Das
Kapital de Marx apareceu em 1868; a Theory of Political Economy de
Jevons, em 1871; Grundstze der Volkswirtschaftslehre (Fundamentos
da Economia Poltica) de Menger tambm em 1871; e os Leading Prin-
ciples de Cai rnes em 1874 assi m, concl ui u, quando Marshal l comeou,
Mi l l e Ri cardo (e tambm Adam Smi th, por que no?) ai nda rei navam
supremos e i ndi sputados.
Cronol ogi camente, dentre as i nfl unci as de personal i dades mar-
cantes em sua vi da, a pri mei ra seri a Kant, o qual , na fase metaf si ca
do desenvol vi mento i ntel ectual de Marshal l , foi seu gui a e o ni co
homem que jamai s adorei , at que os probl emas soci ai s vi eram i m-
percepti vel mente frente di ante da questo cruci al : as oportuni dades
da vi da real devero ser reservadas a uns poucos? A essa al tura a
i nfl unci a domi nante a do prof. Henry Si dwi ck e seu c rcul o i ntel ectual
em Cambri dge, atravs do qual Marshal l foi l evado questo soci al .
Sobre o papel desempenhado por Si dwi ck, o mai s emi nente de seus
contemporneos, l embra Marshal l : Ai nda que eu no fosse seu al uno
de fato, eu o fui substanci al mente em Ci nci a Moral . Fui model ado
por el e. Foi , por assi m di zer, meu pai e me espi ri tuai s: poi s i a a el e
quando perpl exo e para ser confortado quando perturbado; e nunca
vol tei vazi o. O conv vi o com el e me ajudou a vi ver. H, tambm,
cl aro, Mi l l , a mai s poderosa i nfl unci a sobre a i ntel ectual i dade jovem
da poca (mai s, al i s, por seus escri tos fi l osfi cos do que pel os econ-
mi cos) e cujo Political Economy foi , como vi mos, seu pri mei ro l i vro de
l ei tura econmi ca e que mui to o i mpressi onou na poca. Mai s tarde,
j amadureci do, Marshal l no ti nha Mi l l em mui to al ta conta como
economi sta, consi derando cl ssi cos Petty, Hermann von Thnen e Je-
vons, mas no Stuart Mi l l . Marx, al i s, num dos seus costumei ros
comentri os acerbos, di sse sobre Mi l l que sua proemi nnci a devi da
em grande parte pl anura do terreno na poca. Reconhece, por outro
l ado, que deve mui to a Hegel (e quem no l he devedor?) e sua
Filosofia da Histria mas, ao que parece, no apreendeu del e, al m
de um certo hi stori ci smo, o essenci al , i sto , a di al ti ca, de que no
h vest gi o em sua obra. Ai nda no Prefci o 1 edi o dos Princpios,
di z-se credor de Herbert Spencer, Cournot e Von Thnen por di versas
contri bui es menci onadas na obra e que exami naremos oportunamen-
te. Segundo notas autobi ogrfi cas Marshal l senti u-se atra do, em certa
poca, pel as novas concepes de Roscher (representante da escol a hi s-
tri ca al em) e outros economi stas al emes, e at mesmo por Marx,
Lassal e e outros soci al i stas, com cujos i deai s si mpati zava em pri nc pi o
mas no reconheci a val i dade em suas anl i ses e concl uses concernen-
tes engenhari a soci al .
OS ECONOMISTAS
18
Cabe ai nda, neste quadro sumri o e esquemti co das ra zes do
pensamento de Marshal l , menci onar duas correntes de i di as predo-
mi nantes na poca. Uma o Uti l i tari smo de Bentham (1748-1832),
doutri na que i mpregnou a sua concepo econmi co-soci al , como tam-
bm a de Mi l l em certa fase, tendo desempenhado i mportante papel
na vi da pol ti ca da I ngl aterra e podendo mesmo ser consi derada uma
das bases da i deol ogi a burguesa do scul o XI X. A outra i nfl unci a
domi nante foi a das i di as evol uci oni stas de Darwi n (A Origem das
Espcies. 1859) e da um certo darwi ni smo soci al , adqui ri do atravs
de Spencer, em que a competi o (ou concorrnci a) seri a a fora motri z
do progresso econmi co pel a sel eo dos mai s aptos. No seu perfi l i n-
tel ectual , convm l embrar, outrossi m, a sua formao uni versi tri a,
que no consi sti a excl usi vamente da ci nci a matemti ca, mas tambm
do estudo das l etras e l nguas cl ssi cas grego e l ati m como era,
de resto, tradi ci onal na formao uni versi tri a i ngl esa e europi a de
modo geral , e que at certa poca era prati camente o ni co requi si to
i ntel ectual exi gi do para o recrutamento da al ta admi ni strao bri tni ca.
Por fi m, cabe ressal tar, em sua formao de economi sta, a sua fami -
l i ari dade (de que se vem exempl os nos Princpios) com os pri nci pai s
ramos das i ndstri as, as prti cas comerci ai s e a vi da das cl asses ope-
rri as, tendo ti do i ncl usi ve contatos di retos com l deres si ndi cai s e
mesmo com fam l i as de operri os.
O rastreamento da formao e evol uo do pensamento econmi co
de Marshal l e pri nci pal mente de suas contri bui es espec fi cas nos
campos da doutri na e da metodol ogi a da anl i se econmi ca di fi cul tado
pel o fato de suas i di as terem si do formul adas e expostas em aul as,
confernci as e depoi mentos perante rgos governamentai s, ou vei cu-
l adas fragmentari amente em publ i caes de ci rcul ao restri ta, mui to
antes de serem ofi ci al i zadas em l i vros de forma si stemti ca e defi -
ni ti va. Sabe-se, no obstante, como j foi menci onado, que el e comeou
a estudar Teori a Econmi ca em 1867; seu pensamento na matri a es-
tava amadureci do por vol ta de 1875, tendo assumi do forma defi ni ti va
em 1883. Entretanto, nenhuma parte de sua obra foi dada a pbl i co
em forma adequada seno em 1890 nos Princpios (no consi derando
o manual de vul gari zao publ i cado em 1879 em co-autori a com sua
mul her). E a parte de matri a em que pri mei ro trabal hou e que estava
vi rtual mente concl u da em 1875 no foi publ i cada em l i vro seno cerca
de ci nqenta anos depoi s, em 1923 (Money, Credit and Commerce).
Esse hi ato entre a el aborao e a publ i cao de suas i novaes con-
cei tuai s e metodol gi cas teve como conseqnci a ensejar a que al gumas
dessas i novaes fossem di vul gadas por outros, ti rando del as, quando
enfi m publ i cadas, a ori gi nal i dade e o i mpacto da novi dade. Da mui tos
economi stas do mundo i ntei ro, que conheci am Marshal l pel os seus tra-
bal hos publ i cados, jul garem um tanto exagerada a proemi nnci a que
l he atri bu am seus contemporneos e sucessores i ngl eses.
MARSHALL
19
Assi m, por exempl o, noo corrente, di vul gada em aul as, com-
pndi os, enci cl opdi as e di ci onri os de Economi a, que o pri nci pal t tul o
de gl ri a de Marshal l na hi stri a do pensamento econmi co seri a o de
ter fei to a s ntese dos postul ados cl ssi cos com a doutri na margi nal i sta
devi da a Jevons e chamada escol a austr aca (Menger, Bhm-Ba-
werck). H quem prove, porm, como fez Shove,
18
que el e nada deve
nem a um nem outra, tendo em vi sta a ori gi nal i dade ou pri ori dade
subjeti va das suas i di as, as datas de publ i cao das obras dos mar-
gi nal i stas e as refernci as e reconheci mentos de Marshal l s pri nci pai s
fontes de suas contri bui es. Quanto contri bui o dos cl ssi cos, o
que Marshal l tentou fazer, segundo el e prpri o, foi compl etar e gene-
ral i zar, por mei o do aparato matemti co, os postul ados de Smi th e
pri nci pal mente Ri cardo, conforme expostos por Mi l l . Al i s, quando eco-
nomi stas ameri canos acusaram-no de tentar reconci l i ar doutri nas di -
vergentes, Marshal l i rri tou-se com essa errnea e i njusta i nterpretao.
19
J a contri bui o de Marshal l Economi a Matemti ca ou Ma-
temti ca Econmi ca, ou ai nda, para ser mai s preci so, metodol ogi a
di agramti ca, i ncontroversa. A noo da extenso da apl i cao dos
mtodos matemti cos estava no ar, por assi m di zer. J nessa poca
esboava-se nos c rcul os acadmi cos uma tendnci a a estender a apl i -
cao da Matemti ca das Ci nci as di tas experi mentai s s ento cha-
madas Ci nci as Morai s, dentre as quai s as Ci nci as Soci ai s; mas essa
tendnci a nada produzi ra at ento de substanci al e defi ni ti vo no campo
da Economi a. Ora, era natural que Marshal l , por vol ta de 1867 ami go
do grande professor de Matemti ca W. K. Cl i fford e por el e trei nado,
ao vol tar-se para a Economi a, personi fi cada em Ri cardo, comeasse a
trabal har com di agramas e l gebra. El e no foi , na verdade, o ni co
e nem mesmo o pri mei ro dos economi stas contemporneos a uti l i zar
o i nstrumental matemti co para a anl i se econmi ca. Cournot j o
havi a fei to (Recherches sur les Principes Mathmatiques de la Thorie
des Richesses. 1838), como tambm Wal ras (Elments dconomie Pure.
1874-1887; La Thorie Mathmatique de la Richesse Sociale. 1873-
1883). Marshal l , porm, chegou Economi a mui to mai s trei nado do
que Jevons e mesmo que Adam Smi th, professor uni versi tri o de grande
cul tura geral , e Ri cardo, ati l ado homem de negci os da City, os quai s
no i gnoravam os fundamentos da matri a, nem tampouco Mi l l (que
usou exempl os matemti cos), mas que no ti nham como el e o dom
natural e o trei no ci ent fi co dessa di sci pl i na. Foi , por i sso, o pri mei ro
a empregar esse aparato anal ti co de forma si stemti ca, construti va e
exempl ar. E i sso el e o fez com a prudnci a da sua ci nci a.
Fal ou-se na ambi val nci a da ati tude de Marshal l em rel ao
Matemti ca, j que, mestre consumado da matri a, restri ngi u o seu
OS ECONOMISTAS
20
18 Loc. cit.
19 Carta a J. B. Cl arck, de 24-03-1908. I n: Memorials. p. 418.
emprego em Economi a a estrei tos l i mi tes, confi nando os di agramas a
notas de rodap e as equaes a apndi ces, em vez de, como Wal ras,
por exempl o, al ar-se em exerc ci os abstratos no curso da exposi o.
Essa sua ati tude cr ti ca, porm, di ante dos usos e abusos dos mtodos
matemti cos em Economi a no fruto, evi dentemente, de i gnornci a
da matri a, mas, antes, justamente devi da ao seu profundo conhe-
ci mento de suas potenci al i dades e l i mi taes, consi derando a Matem-
ti ca um mtodo vl i do de anl i se em Economi a, mas no de exposi o,
que deve ser em l i nguagem corrente e ter exempl i fi cao com fatos
reai s. O seu comedi mento no uso da Matemti ca era devi do tambm
necessi dade de comuni cao, preocupado que estava em ser l i do e
entendi do pel o mai or nmero poss vel de pessoas, i ncl usi ve pel os no
versados na l i nguagem matemti ca; mas a razo pri nci pal , segundo
Corry, era o recei o de que conjuntos de equaes omi tem ou di storcem
i nfl unci as e consi deraes rel evantes.
20
Ressal vando a uti l i dade dos
hbi tos de raci oc ni o matemti co para cl areza e preci so dos concei tos,
e do emprego de di agramas, de entendi mento geral , antes que de s m-
bol os matemti cos, di z el e prpri o no Prefci o 1 edi o dos Princpios:
O pri nci pal uso da Matemti ca pura em questes econmi cas parece
ser o de ajudar uma pessoa a anotar rapi damente, de uma forma suci nta
e exata, al guns dos seus pensamentos para seu prpri o uso, al m de
assegurar-se de que tem sufi ci entes premi ssas, e somente o bastante,
para as suas concl uses (i sto , que suas equaes no sejam em nmero
mai or ou menor do que suas i ncgni tas). Mas quando um grande n-
mero de si nai s ti ver que ser usado, i sso se torna extremamente penoso
para qual quer um, exceto para o prpri o autor. Seu pensamento a
respei to se torna ai nda mai s cl aro numa carta em que fal a de sua
experi nci a pessoal : Um bom teorema matemti co rel ati vo a hi pteses
econmi cas era al tamente i mprovvel de ser boa Economi a; e eu pros-
segui , cada vez mai s, segundo as regras: 1) Use Matemti ca como uma
l i nguagem estenogrfi ca, antes do que como um i nstrumento de i nves-
ti gao; 2) empregue-a at que se obtenham resul tados; 3) traduza
para o i ngl s; 4) ento i l ustre com exempl os que tenham i mportnci a
na vi da real ; 5) quei me a Matemti ca; 6) se no teve xi to em 4,
quei me 3. I sso tenho fei to com freqnci a.
21
H ai nda a consi derar
que sendo Marshal l um grande matemti co que at pensara em em-
brenhar-se na F si ca nucl ear, s poderi a senti r um certo desdm do
ponto de vi sta i ntel ectual e estti co pel os tri vi ai s fragmentos de l gebra
el ementar, Geometri a e Cl cul o di ferenci al que compem a Matemti ca
Econmi ca, di z Keynes, acrescentando: Contrari amente F si ca, por
exempl o, as partes do esquel eto da teori a econmi ca que so expri m vei s
em forma matemti ca so extremamente fcei s comparadas i nter-
MARSHALL
21
20 Op. cit., p. 27.
21 Carta a A. L. Bowl ey, de 27-02-1906. I n: Memorials. p. 427.
pretao econmi ca dos fatos compl exos e i ncompl etamente conheci dos
da experi nci a, e l eva-nos mui to pouco adi ante no estabel eci mento de
resul tados tei s.
22
O mtodo de trabal ho marshal l i ano consi sti a, em
s ntese, na uti l i zao da Matemti ca acessori amente, como mei o de
i nvesti gao, e o raci oc ni o ordi nri o, bem como os exempl os da vi da
real , para a exposi o. Essa ori entao metodol gi ca i mpregnou a mo-
derna teori a econmi ca i ngl esa, a parti r da chamada escol a de Cam-
bri dge, e foi segui da, entre outros, por Keynes, Hi cks e Pi gou.
Os pri mei ros exerc ci os matemti cos e di agramti cos de Marshal l
em Economi a fazi am parte do estudo A Teoria do Comrcio Exterior,
compl etado por vol ta de 1875/77 e foram di vul gados, como era seu
hbi to, em c rcul os restri tos, sendo mai s tarde suas partes mai s si g-
ni fi cati vas i ncorporadas aos Princpios. Di z Keynes que el es eram de
tal carter em sua penetrao, abrangnci a e exati do ci ent fi ca e foram
to mai s l onge do que as bri l hantes i di as de seus predecessores, que
podemos procl am-l o, justamente, como o fundador da Economi a di a-
gramti ca moderna esse el egante aparato que geral mente exerce
uma poderosa atrao sobre pri nci pi antes i ntel i gentes, que todos ns
usamos como uma i nspi rao e um frei o de nossas i ntui es, e como
um regi stro estenogrfi co de nossos resul tados, mas que geral mente
recua para um segundo pl ano medi da que penetramos mai s no mago
do assunto.
23
Assi m Marshal l , tendo comeado por cri ar os mtodos
di agramti cos modernos, termi nou por rel eg-l os ao seu devi do l ugar.
O aparato anal ti co-matemti co e seu prudente uso foi uma de suas
pri nci pai s contri bui es ao desenvol vi mento da moderna ci nci a eco-
nmi ca. Outras foram as i novaes metodol gi cas e concei tuai s conti das
pri nci pal mente nos Princpios e, last but not least, sua teori a monetri a.
Dei xando de l ado, por enquanto, o acervo teri co conti do nos
Princpios, que ser exposto detal hadamente quando do exame da obra,
vejamos agora a teoria monetria marshal l i ana. Houve quem di ssesse
que Marshal l negl i genci ou a estrutura monetri a e, mai s generi camen-
te, a agregati va em que sua teori a do val or atua. Nada mai s errneo.
No s o que concerne aos Princpios pressupe, subjacentemente, uma
estrutura monetri a, como el e trata expl i ci tamente desse arcabouo
noutros trabal hos. No h nenhuma parte da Economi a, di z Keynes,
em que a ori gi nal i dade e a pri ori dade do pensamento de Marshal l
sejam mai s marcantes do que aqui , ou onde sua superi ori dade de pe-
netrao e de conheci mento sobre seus contemporneos tenha si do
mai or. Di fi ci l mente se encontrar al gum aspecto i mportante da mo-
derna Teori a da Moeda que no tenha si do conheci do por Marshal l
quarenta anos atrs.
24
As duas pri nci pai s fontes de refernci a sobre
OS ECONOMISTAS
22
22 Loc. cit., p. 333.
23 Loc. cit., p. 332-333.
24 I bid., p. 335.
suas i di as nesse campo so os Official Papers, col etnea de memo-
randos e depoi mentos prestados a rgos governamentai s, e Money,
Credit and Commerce, publ i cado j na sua vel hi ce mas contendo pri n-
ci pal mente concepes el aboradas mui tos anos antes.
Os Official Papers contm a essnci a da teori a monetri a de Mar-
shal l . Em s ntese, segundo Corry, os mai s i mportantes el ementos de
sua contri bui o nessa rea so os segui ntes: a chamada equao de
Cambri dge e o seu desenvol vi mento de um ci cl o de crdi to atravs de
um desequi l bri o entre taxas de juros reai s e monetri as. Marshal l
consi derado comumente o fundador da abordagem de Cambri dge teo-
ri a monetri a. Em essnci a, essa teori a postul a uma funo de procura
estvel da moeda, com a renda real (ou ri queza) como o pri nci pal ar-
gumento da funo. Caeteris paribus, tal abordagem dar uma rel ao
proporci onal entre mudanas na oferta da moeda e mudanas no n vel
geral de preos. Essa abordagem foi formal i zada por Pi gou (1917) em
um famoso arti go, e el aborada por Keynes em seu Tract on Monetary
Reform (1923). Marshal l tornou absol utamente cl aro, no entanto, que
mudanas em outros fatores no vol ume de ati vi dade e na procura
de moeda podem mui to bem domi nar a rel ao, especi al mente em
per odos de cri se econmi ca. Sua outra contri bui o nesse campo foi
el uci dar o mecani smo de conexo das taxas reai s de juros e as taxas
monetri as, por mei o do qual as di vergnci as entre as duas geram um
ci cl o de crdi to.
25
Mai s especi fi camente, as mai s i mportantes e carac-
ter sti cas de suas contri bui es ori gi nai s a essa parte da Teori a Eco-
nmi ca so:
26
1) A exposi o da Teori a Quanti tati va da Moeda como parte da
Teori a Geral do Val or;
2) a di sti no entre a taxa real de juro e a taxa monetri a,
e a i mportnci a di sso para o ci cl o de crdi to, quando o val or da moeda
fl utuante;
3) a corrente causal pel a qual , nos modernos si stemas de crdi to,
uma oferta adi ci onal de moeda i nfl uenci a os preos, e a parte desem-
penhada pel a taxa de desconto;
4) o enunci ado de Teori a da Pari dade do Poder Aqui si ti vo como
determi nante da taxa de cmbi o entre pa ses com moedas mutuamente
i nconvers vei s;
5) o mtodo de corrente de compi l ao de nmeros ndi ces;
6) a proposta de papel -moeda para ci rcul ao (segundo as Pro-
posals for an Economical and Secure Currency de Ri cardo), l astreado
em ouro e prata (fundi dos juntos) como padro;
7) a proposta para um Padro Tabul ar ofi ci al para uso opci onal
no caso de contratos a l ongo prazo (al go assi m como a nossa UPC).
MARSHALL
23
25 Loc. cit., p. 32.
26 KEYNES. Op. cit., p. 337-340.
Marshal l pretendi a, como pl ano de trabal ho i ni ci al e bsi co, es-
crever uma sri e de monografi as sobre probl emas econmi cos espec -
fi cos (Comrci o Exteri or, Teori a Monetri a etc.) e depoi s fundi -l as num
tratado geral de Economi a, ao qual se segui ri a um compndi o mai s
popul ar. Por fora de ci rcunstnci as di versas, porm, vi u-se obri gado
a al terar seu projeto ori gi nal e comear pel o que seri a o fecho de uma
l onga obra da os Princpios de Economia.
Pri nc pi os de Economi a
Um moderno instrumento de pesquisa
Os Princpios de Economia so a Magnum opus de Marshal l , a
s ntese de seu pensamento, obra que o consagrou defi ni ti va e uni ver-
sal mente como grande economi sta. Seu apareci mento, em 1890, teve
sucesso i medi ato, sendo saudado pel os economi stas e pel as publ i caes
especi al i zadas como um aconteci mento marcante na hi stri a do pen-
samento econmi co o i n ci o da i dade moderna da Economi a. Obteve,
i ncl usi ve, uma certa popul ari dade, contri bui ndo para restabel ecer na
opi ni o pbl i ca o prest gi o e a credi bi l i dade da Economi a Pol ti ca, aba-
l ados pel as verses desumanas e cruas dos postul ados cl ssi cos. Mar-
shal l pretendi a, al i s, que seu l i vro fosse l i do pel os homens de negci os,
pol ti cos e profi ssi onai s l i berai s, tal vez vencendo a natural averso da
ari stocraci a di ri gente pel os assuntos econmi cos em geral e pel o mundo
dos negci os em parti cul ar.
A i mportnci a hi stri co-doutri nri a dessa obra advm, pri nci pal -
mente, do fato de que, al m das i novaes concei tuai s e metodol gi cas
nel a conti das, apresentava, pel a pri mei ra vez, uma s ntese dos postu-
l ados da Economi a Pol ti ca cl ssi ca e da doutri na margi nal i sta num
todo coerente, sl i do e l ci do, sendo que a sua sofi sti cada exposi o
da anl i se margi nal i sta , ai nda hoje, consi derada magi stral , moti vo
pel o qual seu autor apontado por al guns, um tanto equi vocadamente,
o papa do margi nal i smo. Era o pri mei ro grande tratado geral sobre
os fundamentos da Economi a, ai nda que vi esse a se chamar apenas
i ntrodutri o, depoi s dos Princpios de Economia Poltica de Mi l l ; e a
l ei tura comparada de ambos escl arece e ressal ta os superi ores mri tos
de Marshal l . Obra semi nal , de grande val or teri co e di dti co, tornou-se
rapi damente l i vro de consul ta obri gatri a para os profi ssi onai s e com-
pndi o bsi co do ensi no de Economi a no mundo angl o-saxni co e em
grande parte do conti nente europeu.
Essa obra monumental no sai u assi m de sbi to, pronta e aca-
bada, como da cabea de Juno. Marshal l vi nha estudando e ensi nando
Economi a h mui to tempo antes de sua el aborao, l evou nove anos
escrevendo-a e cerca de tri nta, o resto de sua vi da, revendo suas su-
cessi vas edi es. Mui tas das i di as e concei tos si stemati zados nos Prin-
cpios j havi am si do antes concebi dos e expostos fragmentari amente
por Marshal l em aul as, confernci as, documentos ofi ci ai s e trabal hos
OS ECONOMISTAS
24
di versos, al guns dos quai s publ i cados.
27
Os fundamentos da sua teori a
geral , segundo el e prpri o, j estavam mai s ou menos estabel eci dos
por vol ta de 1870, vi nte anos, portanto, antes da publ i cao da 1
edi o dos Princpios. A grande mudana que i nquesti onavel mente
teve l ugar nas duas dcadas antes da publ i cao dos Princpios foi na
prpri a manei ra de Marshal l abordar a sua matri a, e que assumi a
a forma, sobretudo, de ampl i ao do seu equi pamento no campo da
Economi a apl i cada.
28
Essa obra fruto, portanto, da pl ena maturi dade
i ntel ectual de seu autor, e el e a revi u, refundi u e aperfei oou-a at
prati camente o fi nal de sua vi da.
29
O que i mpressi ona l ogo pri mei ra vi sta nos Princpios sua
admi rvel arqui tetura i ntel ectual a ampl a perspecti va, a fi rmeza
da construo i nterna, a arti cul ao orgni ca de suas partes, a sol i dez
de seus al i cerces. A forma em que se expressam concei tos compl exos
e i novadores l mpi da e preci sa, no l he fal tando mesmo certa el egnci a
esti l sti ca e metforas l i terri as, marcas do bom escri tor. Sob a rou-
pagem da l i teratura a armadura da Matemti ca di sse seu contem-
porneo Edgeworth a propsi to da obra de Marshal l em geral , com
que este concordou, e que se apl i ca i gual mente, e tal vez com mai s
razo, aos Princpios. Cabe assi nal ar, a propsi to do magn fi co aparato
matemti co de que se servi u com prudnci a e destreza exempl ares, a
el egnci a e a l uci dez de suas equaes e di agramas. Mas, no que tange
ai nda s funes matemti cas em que assenta a obra, adverti a o autor,
mai s uma vez, que num tratado como este a Matemti ca usada
somente para expri mi r em uma l i nguagem tersa e mai s preci sa aquel es
mtodos de anl i se e raci oc ni o que as pessoas comuns adotam, mai s
ou menos i nconsci entemente, nos negci os de todo di a da vi da. Pre-
tendendo abranger todo o campo da Economi a de ento, queri a faz-l o,
MARSHALL
25
27 Al m do Economics of I ndustry e dos estudos sobre comrci o exteri or e teori a monetri a,
partes dos quai s foram i ncorporadas aos Princpios, so de i nteresse como background
desta obra, segundo Gui l l ebaud, o arti go de Marshal l sobre Jevons, j ci tado, que contm
a essnci a da teori a marshal l i ana da di stri bui o; outro em defesa de Mi l l , i nti tul ado Mr.
Mi l l s Theory of Val ue (Fortnightly Review. Abri l 1886), a aul a magna de Marshal l em
1885 como professor de Economi a Pol ti ca em Cambri dge e publ i cada sob o t tul o de The
Present Position of Economics (Memorials. p. 152-174); The Graphi c Method of Stati sti cs,
memri a apresentada ao Congresso Estat sti co I nternaci onal em 1885 (Memorials. p. 175-
187), cujos doi s l ti mos pargrafos contm a pri mei ra refernci a concepo marshal l i ana
da El asti ci dade da Procura e expe o mtodo di agramti co de mensurao da el asti ci dade
em qual quer ponto da curva da procura, que el e usou posteri ormente nos Princpios; Theo-
ri es and Facts about Wages (Cooperative Annual. O pri mei ro esboo da teori a da di stri bui o
desenvol vi da nos Princpios).
28 GUI LLEBAUD. I bid.
29 Os Princpios pretendi am i ni ci al mente abranger doi s vol umes, sendo a desi gnao vol ume
I el i mi nada a parti r da 6 edi o de 1910, quando foi acrescentado o subt tul o Tratado
I ntrodutri o. As mai s i mportantes al teraes efetuadas por Marshal l esto na presente
edi o, a 8 (1920) e defi ni ti va. Da 5 8 edi o no houve al teraes estruturai s nos
Princpios. H, como j foi ci tada, uma 9 edi o pstuma em doi s vol umes, mas apenas
variorum: o vol ume I fac-s mi l e da 8 e o vol ume I I reproduz as vari antes das sucessi vas
edi es. Para todos os efei tos preval ece a 8 edi o, na qual basei a-se a presente traduo.
como di sse, de forma acess vel a um m ti co homem de negci os comum.
Da a evi dente preocupao di dti ca no s na conci so, cl areza e ri gor
da exposi o, como tambm nas constantes i ntrodues, remi sses e
notas expl i cati vas. Mas sob a superf ci e desse pol i do gl obo de verdade,
como foi chamado, h embuti dos ri cos vei os e pepi tas de puro ouro,
que ao l ei tor atento e persi stente val er a pena l avrar, como veremos
adi ante. Por i sso costuma-se di zer que a aparente faci l i dade de sua
l ei tura , at certo ponto, enganosa, poi s a cada rel ei tura fazem-se
novas descobertas.
No cabe aqui fazer um rotei ro dos Princpios a ordem de
l ei tura estabel eci da pel o autor, segui ndo suas prpri as i ndi caes
quanto s partes que podem ser l adeadas temporari amente e obser-
vando as advertnci as com que bal i zou o percurso. A preocupao di -
dti ca do anti go professor ai nda uma vez mani festa ao resumi r toda
a obra num Sumri o cuja l ei tura, l ogo de i n ci o, d uma vi so pano-
rmi ca de toda a matri a abordada, al m de faci l i tar a consul ta de
partes espec fi cas.
A concepo geral dos Princpios basei a-se numa vi so mi croeco-
nmi ca do regi me capi tal i sta de produo segundo um enfoque neo-
cl ssi co. A tese central da doutri na econmi ca a conti da a de uma
tendnci a natural para o equi l bri o, uma tendnci a de cresci mento gra-
dual , como resume Joan Robi nson, apl i cada al una de Marshal l : As
foras do mercado di stri bu am os recursos da mel hor manei ra poss vel
entre os di versos usos al ternati vos. Da o concei to de di stri bui o da
renda baseado na justi a natural . I sto , a contri bui o dos trabal ha-
dores para a produo se refl eti ri a nos sal ri os, enquanto a contri bui o
do capi tal para a produo estari a nos l ucros. I sso seri a justo, di rei to
e natural .
30
Convm rel embrar que o arcabouo anal ti co ou a espi nha dorsal
dessa obra nada mai s que uma compl ementao e general i zao, por
mei o do aparato matemti co, da teori a do val or e da di stri bui o de
Ri cardo, como foi exposta por Mi l l .
31
O cerne e a pedra de toque dos
Princpios onde se assenta o seu arcabouo so o Li vro Qui nto cuja
ori gem remonta a 1873, quando o autor estava reformul ando suas i l us-
traes di agramti cas de probl emas econmi cos. Desse cerne, rel em-
bra Marshal l , o presente vol ume foi estendi do gradual mente para a
frente e para trs, at ati ngi r a forma em que foi publ i cado em 1890".
Essa parte do tratado, confessadamente a sua preferi da, embora de-
di casse i gual ateno e cui dado ao conjunto da obra, contm o ncl eo
OS ECONOMISTAS
26
30 "Os Probl emas da Economi a Moderna". I n: Cadernos de Opinio. n 15, Dez. 79/Agosto 80.
p. 8-12.
31 SHOVE. Op. cit., p. 433. Uma exposi o mi nuci osa da matri a conti da em cada l i vro dos
Princpios pode ser encontrada em TAYLOR, Overton H., A History of Economic Thought.
Nova York, McGraw Hi l l Books Co., 1960. Cap. 13, p. 337-379.
de seu trabal ho anal ti co, a obra-pri ma cl ssi ca dessa anlise parcial
to admi rada por uns e to cri ti cada por outros".
32
Ai nda sobre essa
parte do tratado, Marshal l acrescenta: Para mi m, pessoal mente, o
pri nci pal i nteresse do vol ume centra-se no Li vro Qui nto: el e contm
mai s do trabal ho de mi nha vi da do que qual quer outra parte; l ,
mai s do que em qual quer outra parte, que eu tentei enfrentar as ques-
tes pendentes da ci nci a.
33
E conti nua di zendo que o grande probl ema
geral da di stri bui o econmi ca dos recursos o pi v do pri nci pal ar-
gumento da matri a mai s i mportante do Li vro Qui nto e mesmo de
uma grande parte de toda a obra. (Li vro Quarto. Cap. I I I , 8. Nota
sobre a l ei do rendi mento decrescente.)
Vejamos, agora, especi fi camente, as pri nci pai s contri bui es de
Marshal l no campo da doutri na e anl i se econmi cas conti das nos Prin-
cpios, que , como j se di sse, a suma do seu pensamento. Justamente
numa poca em que a controverti da teoria do valor di vi di a os econo-
mi stas em posi es i rreconci l i vei s, Marshal l consegui u, graas pri n-
ci pal mente i ntroduo do el emento tempo como fator na anl i se,
reconci l i ar o pri nc pi o cl ssi co do custo de produo com o pri nc pi o
da uti l i dade margi nal , atri bu do escol a austr aca (Menger), Wal ras
e Jevons, mas que, di z Marshal l , l he foi i nspi rado por Von Thnen.
Ao i ntroduzi r o fator tempo na anl i se econmi ca pel a di sti no entre
curtos e l ongos per odos, el e procurou, com efei to, determi nar o papel
do custo objeti vo de produo (l ongos per odos) e o da uti l i dade margi nal
(per odos curtos) na determi nao do val or dos bens e servi os.
34
Exi s-
tem al guns autores, porm, como Corry,
35
que consi deram a el aborao
da ri gorosa Economi a do estado estaci onri o a contri bui o teri ca cen-
tral de Marshal l .
O mtodo de anl i se parci al ou anl i se de equi l bri o parci al ,
tambm chamado de abordagem Ceteris paribus (i guai s s demai s coi -
sas, i sto , sem que haja modi fi cao de outras caracter sti cas ou ci r-
cunstnci as) das mai s famosas e, hlas, controverti das contri bui es
de Marshal l . Consi ste, essenci al mente, em comparti mentar a economi a
de modo que os pri nci pai s efei tos de uma mudana de parmetro num
determi nado mi ni mercado possam ser ressal tados sem consi derar os
efei tos col aterai s em outros mercados, i ncl usi ve as reaes, ou feedback
destes. Justi fi cando o seu model o anal ti co estti co, di z Marshal l , i ni -
ci al mente, que a funo da anl i se e da deduo em Economi a no
forjar l ongas cadei as de raci oc ni o, mas forjar seguramente mui tas pe-
quenas cadei as e si mpl es el os de l i gao, acrescentando ento que:
O el emento tempo uma das pri mei ras causas daquel as di fi cul dades
MARSHALL
27
32 SCHUMPETER. Histria da Anlise Econmica. Partes I V-V, p. 109.
33 Prefci o 2 edi o.
34 Cf. Robert, 2.
35 Loc. cit., p. 28.
nas i nvesti gaes econmi cas que tornam necessri o ao homem, com
suas l i mi tadas facul dades, avanar seno passo a passo; decompondo
uma questo compl exa, estudando um aspecto de cada vez para, fi nal -
mente, combi nar as sol ues parci ai s numa sol uo mai s ou menos
compl eta do probl ema total . Decompondo-o, separa provi sori amente,
debai xo da condi o Ceteris paribus, as causas perturbadoras... Quanto
mai s a questo assi m reduzi da, mai s exatamente pode-se trat-l a...
Cada tr atamento exato e segur o de uma r eduzi da questo ajuda
mai s a el uci dar os pr obl emas mai or es... do que ser i a poss vel de
outr a for ma. A cada passo, mai s coi sas podem ser consi der adas, as
di scusses ter i cas se podem tor nar menos abstr atas, as di scusses
pr ti cas menos i nexatas do que er a poss vel numa fase anter i or .
(Li vr o Qui nto. Cap. V, 2.)
Outras formul aes doutri nri as e metodol gi cas i ncorporadas
aos Princpios tai s como a el asti ci dade da procura, economi as ex-
ternas e i nternas, quase-renda, fi rma representati va, organi zao em-
presari al etc. desempenharam i mportante papel no desenvol vi mento
subseqente da Economi a e fazem parte hoje do i nstrumental teri co
e anal ti co do economi sta moderno.
Val endo-se de notas e observaes do prof. Edgeworth, que foi
dos pri mei ros renomados economi stas a procl amar a i mportnci a da
nova obra de Marshal l , Keynes assi m resume as pri nci pai s contri bui -
es que nel a se contm (al gumas das quai s, como foi di to, j esboadas
de uma forma ou outra em Economics of I ndustry).
36
1) O escl areci mento compl eto e defi ni ti vo dos papi s desempe-
nhados respecti vamente pel a Procura e pel o Custo de Produo na
determi nao do val or.
2) a i di a geral , subjacente proposi o de que o Val or de-
termi nado no ponto de equi l bri o da Procura e da Oferta, foi estendi da
at a descoberta de um verdadei ro si stema coperni cano, pel o qual todos
os el ementos do uni verso econmi co so manti dos em seus l ugares por
mtuas reaes e contrapesos. A teori a geral do equi l bri o econmi co
por duas poderosas concepes subsi di ri as a Margem e a Substi-
tuio. A noo de Margem foi estendi da al m da Uti l i dade para des-
crever o ponto de equi l bri o em dadas condi es de qual quer fator eco-
nmi co que possa ser consi derado capaz de pequenas vari aes em
torno de um val or dado, ou em sua rel ao funci onal a um dado val or.
A noo de Substi tui o foi i ntroduzi da para descrever o processo pel o
qual o Equi l bri o restaurado ou estabel eci do. Em parti cul ar, a i di a
de Substituio na Margem, no somente entre objeti vos al ternati vos
de consumo, mas tambm entre os fatores de produo, foi extraordi -
nari amente frutuosa em resul tados;
OS ECONOMISTAS
28
36 Loc. cit., p. 349-354.
3) a expl ci ta i ntroduo do el emento Tempo como um fator na
anl i se econmi ca, bem como as concepes de per odos l ongos e cur-
tos ti nha como um dos seus objeti vos traar um encadeamento con-
t nuo atravessando e conectando as apl i caes da teori a geral de equi -
l bri o da procura e da oferta a di ferentes per odos de tempo. H outras
di sti nes conexas a essas que agora consi deramos essenci ai s a um
raci oc ni o cl aro e que foram expl i ci tadas pel a pri mei ra vez por Marshal l
especi al mente entre economi as externas e i nternas, custo pri -
mri o e supl ementar. Desses pares, o pri mei ro Keynes consi dera
uma compl eta novi dade quando apareceram os Princpios; o l ti mo,
no entanto, j exi sti a no vocabul ri o da i ndstri a, se no no da anl i se
econmi ca. Por mei o da di sti no entre per odos l ongos e curtos, o
si gni fi cado de normal tornou-se mai s preci so; e com a ajuda de duas
outras concepes caracteri sti camente marshal l i anas Quase-Renda
e Fi rma Representati va a doutri na do Lucro Normal foi desenvol -
vi da. Todas estas so i di as i novadoras que ni ngum que procure
pensar cl aramente pode di spensar, di z Keynes, ressal vando, porm,
que essa a rea em que, em sua opi ni o, a anl i se de Marshal l
menos compl eta e sati sfatri a, e onde resta mui to a fazer. Reconhece
Marshal l , no Prefci o 1 edi o da obra, que o el emento tempo o
centro da pri nci pal di fi cul dade de quase todo probl ema econmi co";
4) a concepo especi al de Excedente do Consumi dor, desenvol -
vi mento natural das i di as de Jevons, no se revel ou, na prti ca, to
provei tosa como parecera a pri nc pi o. Mas, l embra Keynes, ni ngum
pode desprez-l a como parte do aparato de pensamento, e parti cu-
l armente i mportante nos Princpios por causa do seu uso nas pa-
l avras do prof. Edgeworth para mostrar que, laissez-faire, o mxi mo
de vantagem al canada pel a concorrnci a i rrestri ta, no necessari a-
mente a mai or vantagem poss vel que possa al canar. A prova, apre-
sentada por Marshal l , de que o laissez-faire teori camente entra em
pane sob certas condi es e no apenas prati camente, consi derado um
pri nc pi o de vantagem soci al mxi ma, foi de grande i mportnci a fi l o-
sfi ca. Marshal l no l evou essa argumentao mui to l onge,
37
e a ex-
pl orao mai s avanada desse campo foi dei xada ao seu di sc pul o di l eto
e sucessor, Pi gou, que demonstrou que mqui na poderosa para abri r
cami nho numa regi o embaraada e di f ci l oferece a anl i se de Marshal l
nas mos de quem tenha si do educado para compreend-l a bem;
5) a anl i se do monopl i o fei ta por Marshal l deve ser menci onada,
bem como, a propsi to, sua anl i se do rendi mento crescente, especi al -
mente onde exi stem economi as externas.
As concl uses teri cas de Marshal l nesse campo e sua si mpati a
para com as i di as (i deai s, seri a mai s exato) soci al i stas eram compa-
MARSHALL
29
37 I ndustry and Trade gi ra parci al mente em torno desse ponto.
t vei s, no entanto, com uma vel ha crena na resi stnci a das foras da
concorrnci a. Di z o prof. Edgeworth: Posso me l embrar da vi va i m-
presso da pri mei ra vez que encontrei Marshal l l pel os anos oi tenta,
crei o por sua forte expresso da convi co de que a Concorrnci a
domi nari a por mui to tempo como a pri nci pal determi nante do val or.
Estas no foram as suas pal avras, mas el as se encai xam no pensamento
expresso em seu arti go sobre The Ol d Generati on of Economi sts and
the New:
38
Quando uma pessoa est di sposta a vender uma coi sa
por um preo pel o qual uma outra est di sposta a pagar, os doi s ar-
ranjam por se encontrarem a despei to de proi bi es do Rei , do Parl a-
mento ou dos funci onri os de um Truste ou Si ndi cato Operri o;
6) a i ntroduo expl ci ta da i di a de el asti ci dade o mai or
servi o prestado por Marshal l aos economi stas na provi so de termi -
nol ogi a e equi pamento para apurar o pensamento. A apresentao da
defi ni o de El asti ci dade da Procura vi rtual mente o pri mei ro tratado
de uma concepo sem cuja ajuda a teori a avanada do val or e da
Di stri bui o teri a fei to al gum progresso. A noo de que a procura
pode responder a uma al terao de preo numa extenso que pode ser
mai s ou menos do que proporci onal era, natural mente, fami l i ar desde
as di scusses no comeo do scul o XI X sobre a rel ao entre a oferta
e o preo do tri go. De fato, al go surpreendente que essa noo no
tenha si do mai s cl aramente el uci dada por Mi l l ou Jevons. Mas assi m
no o foi . E o concei to
e =
dx
x
dy
y
i ntei ramente de Marshal l . A manei ra com que Marshal l i ntroduz a
El asti ci dade sem nenhuma sugesto de que a i di a nova, notvel
e caracter sti ca. O campo de i nvesti gao por esse i nstrumento de pen-
samento outro em que os frutos compl etos foram col hi dos pel o prof.
Pi gou antes do que pel o prpri o Marshal l ".
De outro ponto de vi sta que no o estri tamente tcni co-econmi co
mas sob a pti ca ti co-soci al , os Princpios revel am, numa l ei tura aten-
ta, aquel as pepi tas que se di sse estarem subjacentes sob a pol i da
superf ci e deste gl obo da verdade. Da a observao de al guns de que
a sua l ei tura aparentemente fci l , mas torna-se compl exa se sujei ta
refl exo. Ao gari mpar as prescri es soci ai s, os precei tos morai s e
as recomendaes sobre di retri zes governamentai s, que consti tuem a
mensagem de pol ti ca econmi ca e soci al de Marshal l , veri fi quei que
o vei o aur fero mai s ri co j havi a si do expl orado por Theodore Levi tt,
um dos atuai s economi stas que consi deram monumental os Princpios
num ensai o sobre Marshal l em que ressal ta a sua rel evnci a vi tori ana
OS ECONOMISTAS
30
38 Quarterly J ournal of Economics. 1896. v. XI . Republ i cado no Memorials.
para a Economi a moderna.
39
Logo no i n ci o dos Princpios, Marshal l ,
l embra Levi tt, tornou cl aro o que i ri a enfrentar: ...a pouca ateno
que se tem dado rel ao entre a Economi a e o superi or bem-estar
do homem (Li vro Pri mei ro. Cap. 1, 3). El e no cai ri a na armadi l ha,
como al guns dos seus predecessores, em descul pas i mpl ci tas pel os ex-
cessos da atual ordem econmi ca. Di sse el e, com evi dente desaprova-
o, que no passado o per odo no qual a l i vre i ni ci ati va se apresentava
numa forma brbara e desnaturada foi , na verdade, quando os econo-
mi stas foram mai s prdi gos em l ouv-l a (Li vro Pri mei ro. Cap. I , 5).
Marshal l no repeti ri a esse erro", di z Levi tt. El e estava determi nado
seri amente a i nvesti gar se necessri o de todo haver as di tas cl asses
bai xas, i sto , se preci so haver um grande nmero de pessoas con-
denadas desde o bero ao rude trabal ho a fi m de prover os requi si tos
de uma vi da refi nada e cul ta para os outros, enquanto el as prpri as
so i mpedi das por sua pobreza e l abuta de ter qual quer quota ou par-
ti ci pao nessa vi da (Li vro Pri mei ro. Cap. I , 2).
No prossegui mento dessa i nvesti gao, di z ai nda o ci tado autor,
Marshal l propunha dei xar sua anl i se segui r seu prpri o curso: Assi m,
quanto menos nos preocuparmos com di scusses escol sti cas sobre a
questo de saber se tal ou qual assunto pertence ao campo da economi a,
mel hor ser (Li vro Pri mei ro. Cap. I I , 7). Al m do mai s, di sse el e
no i n ci o que as foras ti cas esto entre as que o economi sta deve
consi derar. Tem-se tentado, na verdade, construi r uma ci nci a abstrata
com respei to s aes de um homem econmi co... Mas essas tentati vas
no tm si do coroadas de xi to, nem tampouco real i zadas i ntegral men-
te (Prefci o 1 edi o). El e no i gnorar as al tru sti cas, desi nte-
ressadas e sacri fi cadas conti nui dades e moti vaes dos membros
de um grupo i ndustri al . Refere-se a estas como foras ti cas, di zendo
no prl ogo que: Se este l i vro tem al guma pecul i ari dade , tal vez, a
de dar proemi nnci a a esta e outras apl i caes do pri nc pi o de Conti -
nui dade (Prefci o 1 edi o).
Marshal l era francamente favorvel doutri na de que o bem-
estar do povo em geral deve ser o objeti vo l ti mo de todos os esforos
pri vados e de todos os programas pol ti cos (Li vro Pri mei ro. Cap. I V,
6). J quase no fi m do vol ume, adverti ndo em sua manei ra cautel osa
sobre a necessi dade de se estar de guarda contra a tentao de exagerar
os mal es econmi cos de nossa prpri a poca, decl ara-se fi nal mente
em favor de um fi rme compromi sso para esti mul ar os outros, bem
como a ns prpri os, a uma di sposi o de no mai s permi ti r que os
mal es atuai s conti nuem a exi sti r (Li vro Sexto. Cap. XI I I , 15). Por
mei o de todo o vasto tratado esses mal es so revel ados e profl i gados,
acentua Levi tt, que acrescenta: Ai nda que Marshal l ti vesse mui to que
MARSHALL
31
39 LEVI TT, Theodore. Al fred Marshal l : Vi ctori an Rel evance for Modern Economi cs. I n: Quar-
terly J ournal of economics. XC (3), agosto de 1976. p. 425-443.
di zer sobre sua atenuao ou exti no em outros escri tos e cartas pu-
bl i cadas, a i ncl uso nos Princpios de tantas censuras morai s, pre-
cei tos ti cos, propostas i ntervenci oni stas, refl exes utpi cas, e tanta
repul so repri mi da que torna a obra to ori gi nal .
So vari ados e numerosos os pronunci amentos extra-econmi cos
e ti cos de Marshal l , contrastando com o carter tcni co e ci ent fi co
de suas anl i ses e postul ados econmi cos do que pretendi a el e fosse
uma mqui na para pesqui sa da verdade. O ordenamento por Levi tt
desses pronunci amentos al go arbi trri o, mas no h vantagem prti ca
em al ter-l o. Si gamo-l o, poi s.
A economia da infncia e a da famlia
Marshal l senti a-se i ntensamente perturbado com a terr vel i n-
justi a com que a l i vre-empresa pressi onava os fi l hos da pobreza. Sua
sol uo parci al era equi p-l os com o poder de evi tar ou escapar di sso.
Sendo sua crena de que o conheci mento a nossa mai s potente m-
qui na de produo (Li vro Quarto. Cap. I , 1), di sse el e: Poucos pro-
bl emas prti cos i nteressam mai s di retamente ao economi sta do que
os que se referem aos pri nc pi os segundo os quai s deveri am ser di vi di dos
entre o Estado e os pai s as despesas da educao das cri anas (Li vro
Quarto, Cap. VI , 7)... do ponto de vi sta naci onal , o i nvesti mento de
ri queza no fi l ho do trabal hador to produti vo quanto o seu i nvesti -
mento em caval os ou maqui nari a (Li vro Quarto. Cap. VI I , 10). E
ai nda: O mai s val i oso de todos os capi tai s o que se i nveste em seres
humanos, e desse capi tal a parte mai s preci osa resul ta do cui dado e
da i nfl unci a da me, tanto quanto esta conserve os seus i nsti ntos de
ternura e abnegao, e no se tenha empederni do pel o esforo e fadi ga
do trabal ho no femi ni no (Li vro Sexto. Cap. I V, 3). Assi m, temos
nessa l ti ma ci tao, observa Levi tt, no somente a noo de capi tal
humano, mas tambm um dos precei tos vi tori anos sobre o l ugar, de-
veres e sensi bi l i dades da me num Estado i ndustri al . Os senti mentos
de Marshal l refl eti am si mpl esmente a i deal i zao i ntel ectual preval e-
cente da mul her. El es eram parte essenci al das noes marshal l i anas
de como o capi tal humano cri ado: ...ao aval i ar o custo de produo
de trabal ho efi ci ente devemos freqentemente tomar como uni dade a
fam l i a. De qual quer for ma, al i s, no podemos tr atar o custo da
pr oduo de homens efi ci entes como um pr obl ema i sol ado. Devemos
tom-l o como par te do pr obl ema mai s ampl o do custo de pr oduo
de homens efi ci entes, juntamente com as mul her es aptas a tor nar
os seus l ar es fel i zes e a cr i ar os seus fi l hos vi gor osos em cor po e
esp r i to, ami gos da ver dade e da l i mpeza, cor teses e cor ajosos (Li vr o
Sexto. Cap. I V, 3).
Segundo a i mpl ci ta di vi so de trabal ho de Marshal l , mul her
caberi a a tarefa natural e pri nci pal de cui dar da fam l i a. Duvi dava,
portanto, do benef ci o automti co da mo i nvi s vel ao afastar do l ar
OS ECONOMISTAS
32
as mul heres com a tentao de al tos sal ri os, que estari am se el evando
rel ati vamente mai s depressa do que os dos homens, o que, se por um
l ado, desenvol ve as suas facul dades, , por outro l ado, um mal na
medi da em que l eva as mul heres a negl i genci arem os seus deveres
domsti cos e a no i nvesti rem seus esforos na formao de um ver-
dadei ro l ar e na educao dos fi l hos, que representa um capi tal pessoal
(Li vro Sexto. Cap. XI I , 10). Os mari dos devem, tambm, ter uma
certa presena domsti ca, sendo que a soci edade como um todo tem
i nteresse di reto na reduo de horas extravagantemente l ongas de tra-
bal ho que os mantm fora de casa (Li vro Sexto. Cap. XI I I , 14). Quanto
aos efei tos sobre os jovens da renda fami l i ar e comportamento dos
pai s, achava el e que o i nvesti mento de capi tal na cri ao e educao
dos fi l hos para o trabal ho l i mi tado na I ngl aterra pel os recursos dos
pai s (Li vro Sexto. Cap. I V, 2), e i sso nas cl asses mai s bai xas um
grande mal . Mui tos dos fi l hos das cl asses trabal hadoras so i nsati s-
fatori amente al i mentados e vesti dos, recebem educao i nsufi ci ente,
tm poucas oportuni dades de obter uma mel hor vi so da vi da ou com-
preenso da natureza do trabal ho mai s el evado dos negci os, da ci nci a
ou da arte, enfrentando mui to cedo trabal ho duro e exausti vo, e por
fi m vo para o tmul o l evando consi go tal entos e capaci dades no
desenvol vi das, mal este que cumul ati vo (i dem). Em contraste, aquel es
que nascem nos al tos estratos da soci edade l evam de sa da a vantagem
de um mel hor comeo de vi da, graas a seus pai s (Li vro Sexto. Cap.
I V, 3). bvi o, di z el e, que o fi l ho de al gum j estabel eci do nos
negci os comea com uma grande vantagem, aprende quase que i n-
consci entemente sobre os homens e costumes, comea com mai or capi tal
materi al e tem a vantagem adi ci onal de rel aes comerci ai s j esta-
bel eci das (Li vro Quarto. Cap. XI I , 6).
A correo desse mal es redunda, fel i zmente, no bem pbl i co
por mei o da produo de mel hor capi tal humano e a exti no da
negl i gnci a anti -econmi ca em seu desenvol vi mento. Em apoi o de
sua tese, afi rma Marshal l que s habi l i dades dos fi l hos das cl asses
trabal hadoras pode ser atri bu da a mai or parte do sucesso das ci dades
l i vres da I dade Mdi a e da Escci a em tempos recentes. Mesmo na
prpri a I ngl aterra o progresso mai s rpi do naquel as partes do pa s
em que a mai ori a dos l deres da i ndstri a consti tu da de fi l hos de
trabal hadores, uma vez que as vel has fam l i as estabel eci das tm ca-
reci do da fl exi bi l i dade e juventude de esp ri to que nenhuma vantagem
soci al pode supri r e que provm somente de dons naturai s. Esse esp ri to
de casta e essa defi ci nci a de sangue novo entre os l deres da i ndstri a
se sustentam mutuamente, e no so poucas as ci dades do sul da
I ngl aterra cuja decadnci a pode ser atri bu da em grande parte a essa
causa (Li vro Quarto. Cap. VI , 5). Assi m, poi s, el e atri bu a uma grande
parte da mi sri a exi stente e do entorpeci mento econmi co a causas
estruturai s heredi tri as barrei ras de casta i mpostas aos fi l hos pel a
MARSHALL
33
pobreza de seus pai s. Mas no achava que a pobreza fosse a expl i cao
de tudo. Pronta ao, di sse el e, necessri a com respei to ao grande
res duo de pessoas que so f si ca, mental ou moral mente i ncapazes
de um bom di a de trabal ho com que ganhar um bom sal ri o di ri o. O
caso daquel es que so responsvei s por cri anas exi gi ri a mai or gasto
de fundos pbl i cos e mai s estri ta subordi nao da l i berdade pessoal
necessi dade pbl i ca. O mai s urgente entre os pri mei ros passos i nsi sti r
na freqnci a regul ar escol a com roupa decente, corpos l i mpos e bem
al i mentados. Em caso de omi sso, os pai s devem ser adverti dos e acon-
sel hados; e como l ti mo recurso os l ares poderi am ser di ssol vi dos ou
regul ados com al guma l i mi tao da l i berdade dos pai s (Li vro Sexto.
Cap. XI I I , 12). Evi dentemente Marshal l estava advogando, com me-
di das severas, uma forma de i nstruo pbl i ca compul sri a, mas com
roupa decente e corpos l i mpos.
A si gni fi cao dessa i ncl uso nos Princpios, observa Levi tt,
que Marshal l adverti ri a de i n ci o que tai s matri as (como trustes,
manobras da Bol sa, control e de mercados), no podem ser apropri a-
damente di scuti das num vol ume sobre Fundamentos: el as cabem num
vol ume que trate de al guma parte da Superestrutura (Prefci o 8
edi o). Assi m, estranha com razo o ci tado autor, trustes que produzem
bens e servi os so Superestrutura; fam l i as que produzem capi tal hu-
mano no o so. Control e de mercados" Superestrutura; control e de
pessoas no o . Quando convi nha aos seus precei tos, concl ui Levi tt,
todas as matri as tornavam-se l egi ti mamente o campo de um vol ume
de Fundamentos.
Admi ti ndo que os ganhos dos pobr es possam aumentar , Mar -
shal l r essal vava, no entanto, que el es poder i am us-l os i ncor r eta-
mente, de manei r a tal que pouco ou nada contr i buem par a tor nar -
l hes a vi da mai s nobr e ou ver dadei r amente mai s fel i z (Li vr o Sexto.
Cap. XI I I , 14). Par a i sso el e ti nha uma sol uo: o pr ogr esso pode
ser apr essado... atr avs da apl i cao de pr i nc pi os eugni cos me-
l hor i a da r aa, supr i da de conti ngentes popul aci onai s pel as camadas
mai s al tas antes do que pel as mai s bai xas (Li vr o Quar to. Cap.
VI I I , 5). Esta, de cer to modo, a sol uo fi nal por que, como
obser va Levi tt, afi nal o que Mar shal l pr egava no er a tanto de na-
tur eza econmi ca mas o aper fei oamento mor al e estti co. Er a par a
i sso, fi nal mente, acr escenta ai nda o ci tado autor , mai s do que por
sua contr i bui o par a a r i queza naci onal ou par a a r eduo da po-
br eza que a i nstr uo das camadas mai s bai xas dever i a ser esti -
pendi ada: el evar o tnus da vi da humana. O mestr e-escol a deve
apr ender que o seu dever pr i nci pal no di str i bui r conheci mentos,
poi s al guns xel i ns compr ar o mai s ci nci a i mpr essa do que o cr ebr o
de um homem pode conter , mas educar o car ter , as facul dades e
ati vi dades... Par a esta fi nal i dade, o di nhei r o pbl i co deve fl ui r l i -
vr emente (Li vr o Sexto. Cap. XI I I , 13). Como mestr e-escol a de
OS ECONOMISTAS
34
geraes de economi stas, di z Levi tt, Marshal l ti nha cl ara consci nci a
dessa al ta obri gao.
Teorias do salrio e da distribuio
Se casta e pobreza heredi tri a expl i cam o ciclo da pobreza, o que
expl i cari a a pobreza em si , pergunta-se Levi tt, que responde: tudo o
que Marshal l pode afi nal di zer depoi s de tri nta anos de revi so dos
Princpios que a pobreza em si deri vava de bai xos sal ri os e que
bai xos sal ri os nada ti nham vi rtual mente a ver com a produti vi dade,
mas, si m, i ntei ramente com a exi stnci a do que Marx chamou de exr-
ci to de reserva i ndustri al massas de desempregados rebai xando o
preo do trabal ho, desesperadamente prontos a furar a greve daquel es
que, em busca de mel hori a, recusam-se a trabal har. I sso especi al -
mente verdadei ro em rel ao aos trabal hadores no-qual i fi cados, em
parte porque os seus sal ri os oferecem mui to pouca margem para pou-
pana, em parte porque quando qual quer grupo del es suspende o tra-
bal ho, h um grande nmero pronto a preencher os seus l ugares (Li vro
Sexto. Cap. I V, 8).
Ai nda que se preocupasse seri amente com a teori a da di stri bui o
e a teori a dos sal ri os que tanto fasci naram Ri cardo e seus segui dores
e parti cul armente Karl Marx i nquesti onvel que Marshal l ne-
gava total mente a uti l i dade del as na questo da pobreza: ...os sal ri os
de toda cl asse de trabal ho tendem a ser i guai s ao produto l qui do do
trabal ho adi ci onal do trabal hador margi nal dessa cl asse... Essa dou-
tri na tem si do apresentada s vezes como uma teori a dos sal ri os.
Mas no h fundamento vl i do para tal pretenso. A doutri na... no
tem por si mesma si gni fi cao real , uma vez que para aval i ar o produto
l qui do temos que tomar como fi xas todas as despesas de produo da
mercadori a em que o homem trabal ha, fora o prpri o sal ri o. Contudo,
a doutri na traz l uz uma das causas que regul am os sal ri os (Li vro
Sexto. Cap. I , 7).
Por fi m, l ogi camente, di z l evi tt, foi ao exrci to de reserva i ndus-
tri al que Marshal l teve que retornar, porque afi nal o preo do trabal ho
era el e prpri o um dos determi nantes do preo de mercado de seu
produto. E el e consi derava a pri nci pal i nfl unci a sobre o preo do tra-
bal hador a extenso da concorrnci a das reservas de mo-de-obra nos
portes de um grande empregador, ou de empregadores agi ndo de co-
mum acordo. Tem-se agora certeza de que o probl ema da di stri bui o
mui to mai s di f ci l do que o jul gavam os anti gos economi stas... Na
sua mai or parte, as anti gas tentati vas para dar uma sol uo fci l ao
probl ema foram na real i dade respostas a questes i magi nri as que
poderi am ter surgi do em outros mundos que no o nosso, nos quai s
as condi es de vi da fossem mui to si mpl es (Li vro Sexto. Cap. I , 2).
Noutra passagem anteri or el e j havi a expressado a mesma i di a ao
di zer que a cati vante el egnci a da teori a da di stri bui o dei xava mui to
MARSHALL
35
a desejar quando estendi da da mercadori a ao trabal ho: As excees
so raras e sem i mportnci a nos mercados de mercadori as (commodi-
ties), mas nos mercados de trabal ho so freqentes e i mportantes. Quan-
do um trabal hador teme a fome, sua necessi dade de di nhei ro (a uti l i -
dade margi nal deste para el e) mui to grande. Se no i n ci o o trabal hador
l eva a pi or na negoci ao e se emprega a sal ri o bai xo, a necessi dade
conti nuar grande, e el e conti nuar vendendo sua fora de trabal ho a
bai xo preo. I sso mai s provvel porque enquanto a vantagem da
negoci ao, a respei to de mercadori as, tende natural mente a ser bem
di vi di da entre os doi s l ados, num mercado de trabal ho mui to comum
que esteja mai s dos l ados dos compradores do que dos vendedores
(Li vro Qui nto. Cap. I I , 3). certo, todavi a, que os trabal hadores
manuai s, como cl asse, esto em desvantagem na negoci ao e que a
desvantagem, onde quer que exi sta, provvel ser cumul ati va em seus
efei tos (Li vro Sexto. Cap. I V, 6).
To convi cto estava Marshal l da desi gual dade da rel ao entre
o comprador e o vendedor de trabal ho que, s vezes, pareci a rejei tar
quase compl etamente a doutri na econmi ca convenci onal nessa ques-
to, poi s chegava a di zer que os sal ri os no so determi nados pel o
preo de procura nem pel o preo de oferta, mas pel o conjunto total de
causas que determi nam a oferta e a procura (Li vro Sexto. Cap. I I ,
3). El e ti nha franco desprezo pel os sofi smas que procuravam reduzi r
todos os recursos e troca ao que Marx chamava de nexo pecuni ri o
seres humanos l i vres no so conduzi dos no trabal ho sob os mesmos
pri nc pi os que uma mqui na, um caval o ou um escravo (Li vro Sexto.
Cap. I , 1). E recl amava dos pai s que mandam seus fi l hos trabal harem
como pessoas pregui osas e mesqui nhas, com mui to pouco amor-prpri o
e i ni ci ati va (Li vro Quarto. Cap. I V, 6). Contudo: Se em qual quer
tempo (a oferta e a procura de trabal ho) se faz senti r sobre quai squer
i ndi v duos ou cl asses, os efei tos di retos do mal so cl aros. Mas os so-
fri mentos que da resul tam so de di ferentes espci es: aquel es cujos
efei tos geral mente termi nam com o mal que os provocou, no devem,
em geral , ser comparados em i mportnci a com os que tm efei to i ndi reto
de rebai xar o carter do trabal hador ou de i mpedi -l o de fortal ec-l o
(Li vro Sexto. Cap. I V, 1).
Ento temos que o desi gual poder de barganha dos trabal hadores
no l eva a nenhuma espci e de equi l bri o acei tvel e a prpri a teori a,
j di ssera Marshal l , quando l evada s suas mai s remotas e i ntri cadas
conseqnci as l gi cas, foge das condi es da vi da real (Li vro Qui nto.
Cap. XI I , 3). A real i dade uma sri e de mal es, o mai or dos quai s
rebai xar o carter dos trabal hadores. Marshal l foi buscar a sol uo,
como na questo da pobreza c cl i ca, fora do campo econmi co. Foi en-
contr-l a no Estado e nos si ndi catos operri os. O mal a enfrentar
to urgente que medi das drsti cas contra el e so ansi osamente dese-
jadas (Li vro Sexto. Cap. XI I I , 12). El e era a favor de um sal ri o
OS ECONOMISTAS
36
m ni mo, fi xado pel o Governo, abai xo do qual nenhum homem poder
trabal har, e, mui to do seu fei ti o, um outro abai xo do qual nenhuma
mul her poder trabal har. Essa medi da de carter soci al foi el ogi ada
por Marshal l entusi asti camente, ressal tando os seus benef ci os, mai ores
dos que os poss vei s i nconveni entes, di zendo, i ncl usi ve, que um aumento
de um quarto, di gamos, dos sal ri os das cl asses mai s pobres de ver-
dadei ros trabal hadores acresce mai s soma total de fel i ci dade ("fel i -
ci dade", nota Levi tt, e no Uti l i dade total ) do que um aumento de
um quarto nos rendi mentos de i gual nmero de qual quer outra cl asse,
sendo o dever da soci edade empenhar-se em aumentar o bem-estar
que ser obti do a to bai xo custo (Li vro Sexto. Cap. XI I I , 12/13).
Assi m, em mei o ao seu texto de cer r ada anl i se econmi ca,
Mar shal l fez expl ci tas afi r maes de que a pobr eza decor r e de con-
di es estr utur ai s, pol ti cas e soci ai s, e que a sua atenuao no
est no aper fei oamento ou numa mai s efi ci ente oper ao do si stema
de mer cado l i vr e, mas, antes, i mpondo-l he medi das dr sti cas pel o
Gover no e apoi ando o cr esci mento de associ aes vol untr i as e si n-
di catos tr abal hi stas.
Outras questes extra-econmicas
A i mpaci nci a de Marshal l , como di z Levi tt, em nome da Huma-
ni dade, em al i vi ar ou resol ver o probl ema da pobreza, l evou-o para
fora do campo da Economi a que el e to ri gorosamente apresentou. E
no fi cou apenas no probl ema da pobreza, abordando um grande n-
mero de di versas outras questes.
1) Organizao do Estado e prosperidade econmica A boa
organi zao de um Estado, que o mai or fator da prosperi dade eco-
nmi ca, o produto de uma vari edade i nfi ni ta de moti vos, mui tos dos
quai s no tm nenhuma l i gao com a procura de enri queci mento da
nao (Li vro Sexto. Cap. VI I I , 5).
1.1) Grandes empresas e burocracia A experi nci a mostrou
que as i di as e experi nci as cri adoras na tcni ca comerci al e na orga-
ni zao empresari al so mui to raras nos empreendi mentos governa-
mentai s e no mui to comuns em empreendi mentos parti cul ares que,
em conseqnci a da avanada i dade e l argo tamanho, adotaram m-
todos burocrti cos (Li vro Quarto. Cap. XI I , 9).
2) Deveres dos ricos Agora pel a pri mei ra vez estamos vendo
a i mportnci a de i nsi sti r em que o ri co tem deveres tanto quanto di -
rei tos, consi derado i ndi vi dual como col eti vamente. O mal pode ser ate-
nuado em mui tos outros senti dos por uma compreenso mai s ampl a
das possi bi l i dades soci ai s de uma sorte de caval hei ri smo econmi co.
MARSHALL
37
Uma devoo ao bem pbl i co por parte dos ri cos pode fazer mui to...
em bom servi o para os pobres (Li vro Sexto. Cap. I I I , 13).
3) A busca da riqueza Exi stem, real mente, prazeres verda-
dei ros e di gnos que podem ser obti dos atravs de uma magni fi cnci a
sabi amente organi zada; mas, para i sso, preci so que el a esteja desti -
tu da de toda a vai dade pessoal e da i nveja, como o caso quando
essa magni fi cnci a se mani festa atravs da construo de edi f ci os p-
bl i cos, de parques, de col ees pbl i cas de bel as-artes e de di verti mentos
pbl i cos... assi m a procura da ri queza um fi m nobre, e os prazeres
que proporci ona tendem provavel mente a aumentar medi da que au-
mentam essas formas de ati vi dade superi or, a cujo progresso el a serve
(Li vro Tercei ro. Cap. VI , 6). ...a pri nci pal i mportnci a da ri queza
materi al a de, usada prudentemente, aumentar a sade e o vi gor
f si co, mental e moral da raa humana (Li vro Quarto. Cap. V, 1).
4) Possibilidades de novos arranjos econmicos Nosso conhe-
ci mento... seri a consi deravel mente aumentado, e de val i osa ori entao
para o futuro, se al gumas pessoas parti cul ares, soci edades anni mas
ou cooperati vas fi zessem al gumas cui dadosas experi nci as sobre o que
se tem denomi nado fazendas i ndustri ai s (factory farms). Segundo esse
si stema... o maqui ni smo seri a especi al i zado e economi zado. Evi tar-se-i a
o desperd ci o de materi al , seri am uti l i zados os subprodutos e, sobre-
tudo, seri am empregadas as mel hores competnci as e capaci dades de
admi ni strao mas apenas para o trabal ho de sua especi al i dade (Li vro
Sexto. Cap. X, 8). ... a l uta pel a sobrevi vnci a tende a fazer preval ecer
os mtodos de organi zao mai s bem adaptados a medrar no seu mei o,
mas no necessari amente os mai s aptos a beneficiar o seu ambi ente
(Li vro Sexto. Cap. VI I , 1). ...em regra as rel aes entre empregadores
e empregados el evam-se a um pl ano mai s al to, tanto econmi ca como
moral mente, pel a adoo do si stema de parti ci pao nos l ucros, espe-
ci al mente quando no consi derado seno um degrau para o n vel
ai nda mai s al to, porm mui to mai s di f ci l de al canar da verdadei ra
cooperao (Li vro Sexto. Cap. VI I I , 10).
5) A inferioridade dos agricultores I nfel i zmente, os mai s bra-
vos e ousados, e, portanto, os mai s di gnos de confi ana entre os homens
da l avoura mudam-se sempre para as ci dades, e os agri cul tores cons-
ti tuem uma gente suspi caz (Li vro Sexto. Cap. X, 9). ...o mel hor
sangue da I ngl aterra, que afl ui constantemente para as nossas grandes
ci dades (Li vro Sexto. Cap. X, 10).
6) Lazer, chauvinismo e consumismo Embora uma reduo
das horas de trabal ho vi esse, na verdade, em mui tos casos, reduzi r o
di vi dendo naci onal e bai xar os sal ri os, tal vez fosse bom que a mai or
OS ECONOMISTAS
38
parte das pessoas trabal hasse um pouco menos contanto que a conse-
qente perda da renda materi al pudesse ser compensada com o abandono,
por todas as cl asses, dos hbi tos menos di gnos de consumo, e uma vez
que aprendessem a bem empregar o l azer (Li vro Sexto. Cap. XI I I . 14).
...os artesos angl o-saxni cos, i nsupervei s na perfei o de execuo e
superi ores a todos em energi a cont nua (Li vro Sexto. Cap. XI I I , 3). O
mundo estari a mui to mel hor se todos adqui ri ssem coi sas mai s si mpl es e
em menor quanti dade... (Li vro Tercei ro. Cap. VI , 6).
7) Motivaes no econmicas Da mesma manei ra que o desejo
de di sti ngui r-se vai em n vel decrescente da ambi o dos que desejam
ver seu nome na boca dos homens de pa ses di stantes, em pocas re-
motas, at a ambi o da moci nha da al dei a que deseja que sua fi ta
nova no passe despercebi da dos vi zi nhos, tambm o desejo de ati ngi r
a perfei o por si mesma gradua-se de Newton e Stradi vari us at o
pescador que... se compraz em manejar bem o seu barco... (Li vro Ter-
cei ro. Cap. I I , 4). ...as mel hores energi as dos mai s hbei s i nventores
e organi zadores de mtodos e i nstrumentos aperfei oados so mai s
esti mul adas por uma nobre emul ao do que pel o amor ao di nhei ro
em si (Li vro Pri mei ro. Cap. I I , 1). Um homem no pode ter mai or
est mul o para a energi a e a i ni ci ati va do que a esperana de subi r na
vi da, e permi ti r sua fam l i a comear de um degrau superi or ao que
el e parti u na escal a soci al (Li vro Quarto. Cap. VI I . 6). ...h neces-
si dades convenci onai s to estri tamente exi gi das pel o costume e pel o
hbi to que, na real i dade, mui tas pessoas preferi ri am renunci ar s real -
mente necessri as a passar sem boa parte daquel as... Mui tas dessas
necessi dades convenci onai s e confortos costumei ros so a corpori fi cao
do progresso materi al e moral ... (Li vro Sexto. Cap. I I , 3). As pre-
ocupaes cada vez mai s graves da nossa poca, o progresso da i nte-
l i gnci a da massa, o progresso do tel grafo, da i mprensa e de outros
mei os de comuni cao tendem a ampl i ar sempre o campo da ao co-
l eti va i nspi rada pel o bem pbl i co. E essas transformaes... esto cres-
cendo sob a i nfl unci a de moti vos outros al m dos de benef ci o pecu-
ni ri o, oferecendo, i ncessantemente, ao economi sta novas ocasi es de
medi r moti vos cuja ao pareci a, at agora, i mposs vel de reduzi r-se
a al guma espci e de l ei (Li vro Pri mei ro. Cap. I I , 6).
8) Possibilidades do Governo expandir os benefcios aos consumi-
dores ...resta mui to a fazer, atravs de uma cui dadosa col eta de
estat sti cas da procura e da oferta, e da i nterpretao ci ent fi ca dos
seus resul tados, a fi m de descobri r os l i mi tes da obra que a soci edade
pode real i zar no senti do de di ri gi r as aes econmi cas i ndi vi duai s
para os rumos nos quai s el as mai s contri bui ro para a soma total de
fel i ci dade (Li vro Qui nto. Cap. XI I I , 7). Mesmo no l evando em
conta os mal es resul tantes da di stri bui o desi gual da ri queza h, to-
MARSHALL
39
davi a, pri mei ra vi sta, moti vo para acredi tar que a sati sfao total , l onge
de ser j uma sati sfao mxi ma, seri a mui to acresci da pel a ao col eti va
na produo de coi sas sobre as quai s a l ei do rendi mento crescente atua
com uma fora especi al (Li vro Qui nto. Cap. XV, 5). Pel o estudo... o
esp ri to poder se exerci tar gradual mente a fi xar noes mai s justas das
grandezas rel ati vas dos i nteresses que tem a col eti vi dade nos vri os pro-
jetos de empresas pbl i cas e pri vadas. Doutri nas mai s ss podem substi tui r
as tradi es de uma gerao anteri or, que ti veram tal vez uma i nfl uncia
sal utar em seu tempo mas que abateram o entusi asmo geral , l anando
suspei ta sobre todos os projetos de empreendi mentos pbl i cos de i nteresse
geral , os quai s no apresentassem um saldo de lucro pecuniri o di reto
(Li vro Qui nto. Cap. XI V, 8). necessri o ento que procuremos exa-
mi nar cuidadosamente se a organizao i ndustri al atual no poderi a ser
modi fi cada vantajosamente, de modo a aumentar as oportunidades que
tm as categori as i nferi ores da i ndstri a de uti l i zar as facul dades mentai s
l atentes, de se comprazer nessa uti l i zao e de, pel o seu uso, fortal ec-l as
(Li vro Quarto. Cap. VI I I , 5).
9) Mais sobre o que deve ser feito ...uma restri o moderada
e temporri a acumul ao de ri queza no ser necessari amente um
mal , mesmo de um puro ponto de vi sta econmi co, se l evada a efei to
paul ati namente e sem perturbaes, proporci ona mel hores oportuni -
dades grande massa da popul ao, aumenta sua efi ci nci a e desen-
vol ve nel a os hbi tos de que resul ta o cresci mento de uma raa mui to
mai s efi ci ente de produtores na gerao segui nte. Desse modo, pode-se
promover mui to mel hor, afi nal de contas, o desenvol vi mento mesmo
da ri queza materi al do que pel a mul ti pl i cao do nmero de fbri cas
e mqui nas a vapor (Li vro Quarto. Cap. VI I , 7). H, por consegui nte,
prima facie, uma poderosa razo para temer-se que a propri edade co-
l eti va dos mei os de produo amortea as energi as da Humani dade e
detenha o progresso econmi co, a menos que antes de sua i ntroduo
todo o povo tenha adqui ri do uma capaci dade de dedi cao al tru sti ca
ao bem pbl i co, atual mente mai s ou menos rara... Essas so as razes
pri nci pai s que l evam paci entes estudi osos da Economi a geral mente a
prever pouco bem e mui to mal dos pl anos de sbi ta e vi ol enta reor-
gani zao das condi es econmi cas, soci ai s e pol ti cas da vi da (Li vro
Sexto. Cap. XI I I , 11). ...podemos concl ui r, em oposi o... aos anti gos
economi stas... que qual quer mudana na di stri bui o da ri queza que
d mai s aos que percebem sal ri os e menos aos capi tal i stas capaz,
em i gual dade de outras ci rcunstnci as, de acel erar o cresci mento da
ri queza materi al e no retardar percepti vel mente a sua acumul ao.
Natural mente, as outras ci rcunstnci as no permaneceri am i guai s se
a transformao vi esse por mei os vi ol entos que pusessem em cheque
a segurana pbl i ca (Li vro Quarto. Cap. VI I , 7). A mudana pode
real i zar-se mai s rapi damente sem ser notada como mudana (Li vro
OS ECONOMISTAS
40
Sexto. Cap. X, 4). ... i negvel que o al ojamento das cl asses mai s
pobres em nossas ci dades perni ci oso tanto para o corpo como para
o esp ri to, e que em nosso estado atual de conheci mentos e recursos
no temos moti vo nem descul pa para permi ti r que i sso conti nue (Li vro
Sexto. Cap. XI I , 5). No h necessi dade soci al mai s urgente do que
tornar essa cl asse de mo-de-obra (referi ndo-se sujei ra de certas
ocupaes") escassa e, portanto, cara" (Li vro Sexto. Cap. I I I , 8). Um
pequeno nmero de pessoas fortemente i nteressadas num senti do l e-
vanta a sua voz em conjunto, rui dosa e persi stentemente. Enquanto
i sso, pouco se ouve da grande massa da popul ao... Aquel a mi nori a,
portanto, abri r cami nho, enquanto... poder-se-i a provar que os i nte-
resses dos poucos eram to s um dci mo ou um centsi mo dos i nte-
resses gl obai s da si l enci osa mai ori a (Li vro Qui nto. Cap. I V, 8). Mui -
tos dos seus segui dores (de Adam Smi th), com menos di scerni mento
fi l osfi co e, em al guns casos, com um conheci mento menos aprofundado
do mundo, argumentaram ousadamente que tudo quanto exi ste est
certo... seus exageros causaram grandes danos, especi al mente para
aquel es que mai s se comprazi am nel a (nessa teori a). I mpedi u que pro-
curassem averi guar se mui tas das parti cul ari dades da i ndstri a mo-
derna no seri am transi tri as, tendo um grande val or em sua poca,
como foi o caso do si stema de castas, mas que, como el e, prestari am
mai ores servi os por abri rem cami nho a um per odo mel hor (Li vro
Quarto. Cap. VI I I , 4).
Marshal l , como se v, no vaci l ava em entremear sua ri gorosa
anl i se econmi ca com observaes e prescri es normati vas de carter
ti co-soci al , sai ndo do estri to campo da economi a quando esta no l he
apresentava sol ues para os prementes probl emas da soci edade que
tanto o afl i gi am. Condenava como al tamente suspei to todo o si stema
que permi te o desperd ci o das potenci al i dades das categori as profi s-
si onai s i nferi ores dos trabal hadores (Li vro Quarto. Cap. VI I I , 5).
Ressal vando, conti nuamente, que no mundo econmi co Natura non facit
saltum que , al i s, a ep grafe no fronti sp ci o dos Princpios
observava que se o progresso devesse ser l ento preci svamos, no en-
tanto, l embrar-nos que, mesmo de um ponto de vi sta puramente ma-
teri al , as mudanas que aumentam, ai nda que um pouco, a efi ci nci a
da produo, val em a pena ser fei tas, caso benefi ci em a Humani dade
com uma produo de ri queza mai s efi caz e uma di stri bui o mai s
i gual i tri a e eqi tati va (i dem).
Ora, di ante de to numerosos e vari ados pronunci amentos de
natureza ti co-soci al em mei o a um tratado de Economi a de exempl ar
ri gor metodol gi co e mesmo ci ent fi co, cabe i ndagar-se, como o fez Levi tt
afi nal , qual a concepo de Marshal l do trabal ho apropri ado do eco-
nomi sta e dos estudos econmi cos. Dei xemos que el e prpri o responda.
Em pri mei ro l ugar el e achava que quanto menos nos preocuparmos
com i ndagaes escol sti cas sobre a questo de saber se tal assunto per-
MARSHALL
41
tence ao campo da Economi a, mel hor ser (Li vro Quarto. Cap. I I ,
7). Por outro l ado, estava convenci do de que a mqui na para pesqui sa
da verdade, que so os Princpios, se restri ta a consi deraes de ordem
puramente econmi cas no senti do tradi ci onal , i sto , estri tamente tc-
ni cas e ci ent fi cas, no atenderi a aos al tos propsi tos que el e atri bu a
prpri a Economi a e que foram justamente os que o l evaram a el a.
A questo de se a pobreza necessri a empresta Economi a seu
mxi mo i nteresse, si nteti zava el e no Sumri o da sua obra (Li vro Pri -
mei ro. Cap. I , 2), expl i ci tando que a questo de se real mente
i mposs vel que todos possam comear no mundo com uma justa opor-
tuni dade de l evar uma vi da cul ta, l i vre das penas da pobreza e das
i nfl unci as estagnantes das l abutas excessi vamente mecni cas... d aos
estudos econmi cos seu pri nci pal e mai s al to i nteresse (i dem).
Marshal l pretendi a, com o embasamento matemti co, aproxi mar
a Economi a, ou pel o menos parte del a, do ri gor e exati do das ci nci as
experi mentai s, tentando, i ncl usi ve, atrai r para o seu estudo al unos
com formao em Matemti ca ou F si ca, o que jamai s consegui u porque
el es conti nuavam a provi r das chamadas di sci pl i nas l i terri as. No
entanto, estava perfei tamente consci ente de que a Economi a no se
pode comparar com as ci nci as f si cas exatas poi s que el a se rel aci ona
com as foras suti s e sempre mutvei s da natureza humana (Li vro
Pri mei ro. Cap. I I , 1). Al m di sso, pode-se mesmo questi onar o prpri o
carter ci ent fi co dos postul ados econmi cos sob o argumento de que
uma ci nci a s madura quando passa a ser dogmti ca, e a Economi a,
mesmo consi derada ci nci a, ai nda ou apenas exegti ca, em que
pese a opi ni o de Pareto de que a Ci nci a no tem dogmas. Mas,
vol tando a Marshal l , di z el e que assi m como a bal ana de preci so
do qu mi co torna a Qu mi ca mai s exata do que outras ci nci as f si cas,
do mesmo modo a bal ana do economi sta (a medi da em di nhei ro) deu
Economi a uma exati do mai or do que a de qual quer outro rumo da
Ci nci a Soci al (i dem). Da a crena de al guns de que a economi a seri a
a Geometri a eucl i di ana, seno a F si ca, das Ci nci as Soci ai s.
Repassando o que os economi stas vi nham di zendo h anos e o
que el e prpri o observou na real i dade, no de admi rar, di z Levi tt,
que Marshal l tenha concl u do que: Neste mundo, poi s, qual quer dou-
tri na ch e si mpl es sobre as rel aes entre o custo de produo, a
procura e o val or necessari amente fal sa: e quanto mai or a aparnci a
de l uci dez se l he emprestar por uma hbi l exposi o, mai s perni ci osa
ser (Li vro Qui nto. Cap. V, 2). Ademai s, A tentati va de torn-l as
(as teori as) preci sas sobrepuja as nossas foras. Se compreendermos
em nosso cmputo aproxi madamente todas as condi es da vi da real ,
o probl ema pesado demai s para ser mani pul ado; e se escol hermos
apenas al gumas, ento os raci oc ni os suti s e l abori osamente arqui te-
tados a seu respei to se tornam antes bri nquedos ci ent fi cos do que
utens l i os para trabal ho prti co (Li vro Qui nto. Cap. XI I , 3).
OS ECONOMISTAS
42
A uti l i dade do economi sta deve ser, portanto, medi da pel a pra-
ti cabi l i dade de suas descobertas, mai s especi fi camente em ajudando o
homem a l i berar-se dos sofri mentos da pobreza e das i nfl unci as en-
torpecentes do l abor excessi vamente mecni co, de modo que el e possa
l evar uma vi da ci vi l i zada. Nessa busca el e adverte que a Economi a
nunca se pode tornar uma ci nci a si mpl es (Li vro Qui nto. Cap. VI I I ,
1) e que, conquanto a el ucubrao abstrata seja uma boa coi sa quando
confi nada ao l ugar prpri o. Um homem ser provavel mente mel hor
economi sta se confi ar no seu bom senso e nos seus i nsti ntos prti cos
(Li vro Qui nto. Cap. V, 2). Por essa razo, el e concl ui seus Princpios,
depoi s de centenas de pgi nas de densa anl i se abstrata apurada em
tri nta anos de freqente revi so, com a observao de que mui to deste
trabal ho (do economi sta) necessi ta menos de l abori osos mtodos ci en-
t fi cos do que de agudo bom senso, de um bom senti do de proporo
e de uma l arga experi nci a da vi da. Se por um l ado afi rmava que
h mui to trabal ho que no faci l mente real i zado sem tal aparel hagem
(i sto , sem cl cul o econmi co ci ent fi co"), por outro l ado concl u a que
as causas econmi cas esto mi sturadas com outras de tantos modos
di ferentes que raro o raci oc ni o ci ent fi co exato nos l eva mui to l onge
no cami nho da concl uso que procuramos. Para ser um bom economi sta
deve-se, por consegui nte, ter experi nci a al m do estudo de Economi a.
De fato, deve-se ser mai s do que somente economi sta. Marshal l ci ta
ento, e endossa, o parecer de Mi l l de que No ser provavel mente
um bom economi sta quem no nada mai s do que i sso. Os fenmenos
soci ai s agi ndo e reagi ndo uns sobre os outros no podem ser compreen-
di dos corretamente quando destacados.
uma boa observao que, de resto, se apl i ca a quase todas as
profi sses de certo n vel .
Por que ler Marshall hoje
Concl ui ndo e resumi ndo, faamos, agora, um bal ano cr ti co da
obra de Marshal l , especi al mente dos Princpios, confrontando, na pers-
pecti va de hoje, o dbi to e o crdi to de suas contas com a hi stri a do
pensamento econmi co. Comecemos pel o l ado negati vo.
Em que pesem suas i nvenes doutri nri as e metodol gi cas,
Marshal l , no obstante, era um homem do seu tempo e quem no
o , seno os vi si onri os e profetas, os mdi uns do futuro? e el e
no era nem uma coi sa nem outra mas, apenas, um magi stral econo-
mi sta, o que j mui to. Sua obra no poderi a, portanto, seno refl eti r
sob todos os aspectos, tanto negati vos quanto posi ti vos, a poca hi stri ca
em que foi el aborada. Essa foi a era, como se di sse a propsi to de
outro emi nente vi tori ano e si ngul ar economi sta,
40
o zni te da ci vi -
l i zao burguesa e o nadi r da ci vi l i zao burguesa, o tempo do mate-
MARSHALL
43
40 SCHUMPETER. Ten Great Economi sts. Kar l Mar x, 1818-1883 The Mar xi an Doc-
tr i ne . p. 6.
ri al i smo mecani ci sta, de um mei o cul tural que at ento no tra a
nenhum si nal de que uma nova arte e um novo modo de vi da estavam
em seu ventre, agi tando-se na mai s repul si va banal i dade. A f em
qual quer senti do real estava desaparecendo rapi damente de todas as
cl asses da soci edade, e com el a o ni co rai o de esperana ( parte a
que poderi a ter deri vado das ati tudes de Rochdal e
41
e das cai xas de
poupana) morreu no mundo dos pobres, enquanto os i ntel ectuai s con-
fessavam-se sati sfei tos com a Lgica de Mi l l e a Lei dos Pobres".
42
Se, por um l ado, a Revol uo I ndustri al transformara a Gr-Bretanha
no centro do si stema sol ar do mundo econmi co e pol ti co, sob uma
aparente sereni dade, segurana e perpetui dade, por outro l ado suas
seqel as soci ai s transformaram, na expresso de Lewi s Mumford, a
verde I ngl aterra de Shakespeare na ci nzenta I ngl aterra de Di ckens,
e essa ambi val ente i nfl unci a teve mui to a ver com a concepo ti -
co-soci al de Marshal l de l i beral reformi sta, que Schumpeter apodou
de moral i smo vi tori ano, como, tambm, na sua prpri a doutri na eco-
nmi ca, cal cada na economi a de mercado e no progresso l ento e gradual
por vi a capi tal i sta, num mundo i mpregnado da tranqi l a certeza do
scul o XI X, sob a gi de da Pax Britannica. Marshal l , al i s, di ga-se
de passagem, era um i mperi al i sta convi cto, crente na superi ori dade
raci al e na mi sso ci vi l i zadora do homem branco, parti cul armente an-
gl o-saxni co, e defensor confesso do dom ni o i ngl s na ndi a, como fi el
sdi to da Rai nha Vi tri a que era.
A sl i da e i mponente construo arqui tetni ca dos Princpios teri a
que sofrer, no s em suas partes estruturai s mas em seus prpri os
al i cerces, a ao corrosi va do tempo, el emento que el e tanto val ori zou
em suas anl i ses, no fosse a Economi a um corpo de conheci mentos
temporal , e de pouco val eri a ci enti fi camente se no houvesse evol u do
depoi s de Marshal l . Postul ados bsi cos da doutri na marshal l i ana
como a concepo neocl ssi ca do capi tal i smo e a teori a margi nal i sta
foram fi cando cada vez mai s di stantes da real i dade dos fatos da
vi da contempornea e, conseqentemente, questi onados por economi s-
tas e por responsvei s pel a pol ti ca econmi ca mesmo de pa ses onde
permanece i nabal vel a convi co de que o regi me capi tal i sta de pro-
duo ai nda o mai s efi ci ente si stema econmi co, e a l i vre-empresa
o que h de mai s favorvel l i berdade pol ti ca.
A Economi a de Marshal l , em geral , no mai s a Economi a dos
nossos di as. Outros tempos outros probl emas e sol ues. Mui tos de
seus parmetros e i nstrumentos anal ti cos tornaram-se obsol etos e fo-
ram, por i sso, aperfei oados ou substi tu dos. Sua poderosa mqui na
de pesqui sa da verdade sofreu grande desgaste na Grande Depresso
OS ECONOMISTAS
44
41 Ci dade do centro da I ngl aterra, em Lancashi re, centro das i ndstri as txti l e si derrgi ca,
bero do movi mento cooperati vo i ngl s, cri ado em 1844.
42 Ver Nota dos Tradutores, no corpo da obra, sobre essa l ei de proteo aos pobres.
dos anos 30, e as mudanas econmi cas que se segui ram Segunda
Guerra Mundi al acabaram por torn-l a quase i noperante. A l ei da
oferta e da procura j no vi gora to absol uta, seno como credo dou-
tri nri o ou i deol gi co os monopl i os, ou ol i gopl i os, as transnaci onai s,
o proteci oni smo, escl erosam o comrci o e admi ni stram os preos i n-
terna e externamente, para no fal ar nos mercados pl anejados dos
Estados di tos soci al i stas e no capi tal i smo de Estado, que para Mar-
shal l seri a uma contradi o em termos. Sua pti ca era a da concepo
i ndi vi dual i sta, da empresa t pi ca, ou seja, a da mi croeconomi a e os
probl emas macroeconmi cos, que so os probl emas cruci ai s do nosso
tempo e da soci edade atual , tai s como o desenvol vi mento e o subde-
senvol vi mento, a pobreza estrutural e general i zada, a i nfl ao, a re-
cesso, a perversa e novel combi nao da estagfl ao, as fl utuaes
c cl i cas, a anarqui a monetri a, o crescente endi vi damento externo de
grande parte do mundo, tai s probl emas so i ncompreens vei s na pers-
pecti va marshal l i ana, poi s que i gnorados ou apenas abordados super-
fi ci al mente por aquel e de quem se di sse saber toda a Economi a de sua
poca. Essa, al i s, uma das cr ti cas mai s radi cai s que se faz a Marshal l ,
como se fez a Ri cardo, a de i gnorar a macroeconomi a e com i sso camufl ar
os reai s probl emas econmi cos da soci edade. Por i sso, pri nci pal mente,
que Gal brai th fal a, em sua autobi ografi a, na profundamente san-
ci onada obsol escnci a da Economi a neocl ssi ca. Veredi cto confi rmado
por outros renomados economi stas.
Schumpeter, por exempl o, acha tambm que, em certo senti do,
pel o menos, a Economi a marshal l i ana j passou. Sua vi so do processo
econmi co, seus mtodos, seus resul tados di z el e no so mai s
os nossos. Podemos amar e admi rar essa poderosa estrutura (os Prin-
cpios) que, gol peada pel o i mpacto de cr ti cas e de novas i di as, ai nda
projeta suas l i nhas majestosas no transfundo de nosso prpri o trabal ho.
Podemos amar e admi rar sua obra como amamos e admi ramos uma
madona de Perugi no, reconhecendo que corpori fi ca perfei o o pen-
samento e o senti mento do seu tempo, reconhecendo, todavi a, quo
l onge nos afastamos del a. I sso, natural mente, nada mai s que o re-
sul tado i nevi tvel do trabal ho fei to durante os l ti mos ci nqenta anos,
que seri a i ntei ramente estri l se os Princpios no fossem para ns
al go mai s que um si mpl es cl ssi co. No so as opi ni es de Marshal l
sobre probl emas prti cos, questes soci ai s e semel hantes que so ob-
sol etas. O que i mporta que seu aparato anal ti co obsol eto e que
o seri a mesmo que nada acontecesse para mudar nossas ati tudes po-
l ti cas. Se a Hi stri a permanecesse estaci onri a e nada seno a anl i se
ti vesse prossegui do, o veredi cto teri a que ser o mesmo.
43
Sobre esse aparato anal ti co marshal l i ano, a que se refere Schum-
MARSHALL
45
43 The Great Economists. p. 92.
peter, a cr ti ca mai s radi cal , mas s em parte vl i da, a de que a
i nfl unci a de Marshal l teri a si do desastrosa por ter l evado a anl i se
econmi ca numa di reo estri l , preocupado que estava com um fi ct ci o
estado estaci onri o, um mundo de caeteribus paribus num cont nuo
sel ado, despi do de real i smo, rel evnci a ou prati cabi l i dade, o que teri a
justi fi cado a sabedori a dos homens de negci os em i gnorarem os eco-
nomi stas por quase mei o scul o, segundo Levi tt. Exi stem hoje, ver-
dade, processos mai s refi nados de anl i se econmi ca, tal como, por
exempl o, o si stema de input-output de Leonti ef, assi m como Mi l ton
Fri edman, por outro l ado, col ocou a curva da procura em bases ana-
l ti cas mai s sati sfatri as. Mas i gual mente verdade que Marshal l usou
o arti f ci o anal ti co de ceteris paribus com grande fl exi bi l i dade e cautel a.
Assi m, justi fi cava el e os model os anal ti cos estti cos:
O el emento tempo a pri nci pal causa das di fi cul dades nas i n-
vesti gaes econmi cas que tornam necessri o para o homem, com suas
l i mi tadas facul dades, avanar passo a passo; decompondo uma questo
compl exa, estudando uma poro de cada vez, e por fi m combi nando
suas sol ues parci ai s em sol uo mai s ou menos compl eta do probl ema
i ntei ro. Decompondo-o, el e segrega as causas perturbadoras... no mo-
mento em uma espci e de confi namento chamado Ceteris paribus...
Tanto mai s a questo restri ta, mai s exatamente pode ser mani pu-
l ada... Cada mani pul ao exata e fi rme de uma questo restri ta... ajuda
a tratar das questes mai s ampl as... mai s exatamente do que seri a
poss vel de outro modo. A cada passo mai s coi sas podem ser reti radas
do confi namento; di scusses exatas podem ser tornadas abstratas, di s-
cusses real sti cas podem se tornar menos i nexatas do que fora poss vel
numa fase anteri or (Li vro Qui nto. Cap. V, 2).
E foi justamente pel o uso abusi vo desse mtodo que Marshal l
censurou mui tas i nterpretaes popul ares da teori a do val or de Ri -
cardo, di zendo que preci so vi ol nci a para manter grandes foras,
sob chaves, no ceteris paribus durante, di gamos, uma gerao i ntei ra,
sob a al egao de que el as s tm uma l i gao i ndi reta com a questo
em foco... Assi m, o emprego do mtodo estti co nas questes rel ati vas
a per odos mui to l ongos peri goso (Li vro Qui nto. Cap. V, 8). Apa-
rentemente no se senti a de todo sati sfei to com os mtodos estti cos
nem mesmo em curtos per odos: bvi o que no h l ugar em Economi a
para l ongas sri es de raci oc ni o deduti vo...
A ori gi nal i dade da obra de Marshal l , por tantos procl amada,
outro ponto suscet vel de di scusso. O fato de que suas contri bui es
ci rcul avam ori gi nal mente em ambi entes restri tos, vi a a tradi o oral
de Cambri dge, mui to antes de serem publ i cadas em l i vros, cri ou uma
grande confuso entre ori gi nal i dade subjetiva e objetiva. Assi m, embora
no haja dvi da hoje de que Marshal l nada devi a a Jevons nem
escol a austr aca quanto doutri na margi nal i sta, i sso s se tornou p-
bl i co depoi s do ci tado ensai o bi obi bl i ogrfi co de Schumpeter, entre ou-
OS ECONOMISTAS
46
tros, ai nda no se sabi a di sso, como se ver em segui da. Por outro
l ado, do ponto de vi sta da ori gi nal i dade objetiva, os Princpios apre-
sentam mui tas i novaes em matri a de doutri na e de metodol ogi a
mas, natural mente, nem tudo que nel e se contm revel ao de ver-
dades fundamentai s. Observa, a esse respei to, Schumpeter: De acordo
com o que eu crei o serem os padres usuai s da hi stori ografi a ci ent fi ca,
o mri to da redescoberta do pri nc pi o da uti l i dade margi nal pertence
a Jevons; o da descoberta do si stema do equi l bri o geral (i ncl usi ve a
teori a do escambo) pertence a Wal ras; o pri nc pi o da substi tui o e a
teori a da produti vi dade margi nal so de Von Thnen; as curvas de
oferta e procura e a teori a estti ca do monopl i o so de Cournot (como
tambm o o concei to, mas no a denomi nao, de el asti ci dade-preo);
o excedente do consumi dor de Dupui t; o mtodo di agramti co de
apresentao tambm de Dupui t, ou ento de Jerki n.
44
Acusa-se Mar-
shal l , i njustamente, de no ter reconheci do expl i ci tamente a pri ori dade
que cabe a esses autores em rel ao a certas i di as, em contraste com
a sua generosi dade para com Ri cardo e Mi l l , menci onando apenas,
al m destes, Von Thnen, Cournot e Wal ras. A verdade, porm, como
acentuou Keynes, que, como no caso de Jevons e dos austr acos,
Marshal l percebeu defei tos tcni cos e outras fal has em suas obras,
defei tos estes que poderi am prejudi car a val i dade e o xi to dos novos
pri nc pi os, a menos que seus autores fossem manti dos a di stnci a apro-
pri ada; outra razo adi ci onal tal vez fosse a de que, consci ente de suas
responsabi l i dades como nume tutel ar e chefe de escol a" do pensamento
econmi co i ngl s, manti nha uma certa reserva de mercado i ntel ectual ,
onde os produtos estrangei ros s entravam depoi s de passar por sua
i nspeo aduanei ra e ser por el e naci onal i zados. Schumpeter, ao apon-
tar as di versas autori as al hei as, admi te outra ci rcunstnci a atenuante
para a omi sso de Marshal l : a conti nui dade do trabal ho anal ti co
um patri mni o e os organi zadores, do novo si stema teri co, ou pel o
menos Jevons e os austr acos, ti nham desnecessari amente aumentado
a di stnci a que os separava de seus predecessores. De qual quer modo,
Mar-shal l ti nha seus prpri os cri tri os quanto atri bui o de crdi to
s suas fontes e deve ter ti do boas e sl i das razes para proceder como
o fez, poi s que sua i ntegri dade i ntel ectual jamai s foi questi onada.
Dando-se um bal ano geral e objeti vo, ai nda que sumri o, no
acervo i ntel ectual de Al fred Marshal l , do que el e herdou, cri ou e acres-
centou doutri na e anl i ses econmi cas, o sal do francamente posi ti vo.
Se no ti vesse fei to outra coi sa seno si stemati zar, ampl i ar e trans-
formar a Economi a Pol ti ca cl ssi ca no corpo de conheci mento e i ns-
trumental anal ti co que chamamos de escol a neocl ssi ca, j teri a de-
sempenhado um papel hi stri co, l egando um patri mni o ri qu ssi mo de
MARSHALL
47
44 Histria da Anlise Econmica. Partes I V-V. p. 111-112.
que foram benefi ci ri as geraes sucessi vas de economi stas de di fe-
rentes persuases doutri nri as. Os Princpios de Economia so ai nda
hoje a mel hor s ntese dos postul ados neocl ssi cos em Economi a e uma
exposi o magi stral da concepo margi nal i sta, sendo at mesmo con-
si derados por al guns soci l ogos uma teori a da ao humana.
Mui to do seu aparato anal ti co ori gi nal e faz parte do equi pa-
mento i ntel ectual do economi sta moderno a i ntroduo do fator tem-
po na anl i se econmi ca, a di sti no entre economi a externa e i nterna,
grande parte de sua teori a monetri a, especi al mente, a di sti no entre
taxas de juros reai s e monetri as, a determi nao do Val or pel o
ponto de equi l bri o entre Procura e Oferta, a concepo de um si stema
coperni cano em que todos os el ementos do uni verso econmi co so
manti dos em seus l ugares por contrapesos e i nteraes mtuas, a i di a
de el asti ci dade, a quase-renda, a empresa representati va ou t pi ca,
a organi zao empresari al como fator de produo etc. Al m di sso,
mui tas outras i di as el e as recebeu e reel aborou, outras semeou e
foram germi nar e fl orescer nas mos de outros. Os aparel hos de anl i se
i deados ou forjados por Marshal l ca ram no fundo comum dos econo-
mi stas, como di sse Raymond Barre,
45
o mai or dos economi stas con-
temporneos da Frana, segundo mui tos afi rmam.
Marshal l , como quase todas as grandes fi guras nos di versos cam-
pos de conheci mento ou ati vi dade, foi to admi rado quanto i ncom-
preendi do e mesmo i njusti ado. Supor, por exempl o, di z Shove,
46
que
Marshal l tratava o si stema capi tal i sta como parte da ordem natural
das coi sas ou mesmo que o consi derava como tendo si do estabel eci do
uma vez para sempre, seri a, natural mente, ri d cul o. Tal como Mi l l ,
ai nda que menos confi ante, el e vi si onava a emergnci a eventual de
novas formas de organi zao e al guma espci e de nova ordem soci al .
Sua preocupao era de que el as vi essem de uma manei ra que no
sufocasse a i ni ci ati va e a experi mentao, e antes que o mei o i nsti tu-
ci onal e tcni co ti vesse desenvol vi do novos moti vos e novas tradi es
de comportamento que preservassem uma fora propul sora do progres-
so (as prpri as pal avras de Marshal l a respei to j foram ci tadas an-
teri ormente, cf. Li vro Sexto. Cap. XI I I , 11).
No se i nfi ra da que Marshal l fosse soci al i sta, embora si mpati -
zasse com seus i deai s, mas no com a sua engenhari a soci al seri a
soci al i sta se no ti vesse coi sa mai s sri a para fazer, di sse el e uma
vez. Al gumas concepes de cunho protomarxi sta, no entanto, podem
ser encontradas aqui e al i em seus textos, numa i nterpretao um
tanto tal mdi ca, como, por exempl o, a de que o modo pel o qual o
carter do homem afeta e afetado pel os mtodos preval ecentes de
produo, di stri bui o e consumo da ri queza ti nha i mportnci a ci en-
OS ECONOMISTAS
48
45 conomie Politique. 10 ed., Pari s, PUF, 1975. v. I , p. 52.
46 Loc. cit., 458-459.
t fi ca. A essa concl uso el e poderi a ter chegado por outras vi as que
no a do Das Kapital, que el e l eu, j que achava Marx nebul oso e
utpi co, e di scordava del e quanto i nterpretao da teori a do sal ri o
de Ri cardo, justamente um dos pi l ares da teori a econmi ca marxi sta
e que Marshal l achava que Marx no ti nha entendi do, enquanto o
fi l sofo e economi sta al emo provavel mente rel egava o autor dos Prin-
cpios ao anoni mato dos economi stas vul gares, detestava professores
de Economi a e no l i a seno l i vros e documentos da Bi bl i oteca do
Museu Bri tni co, onde, provavel mente, a obra de Marshal l ai nda no
havi a chegado...
A consci nci a soci al de Marshal l , entretanto, era vi va e parti ci -
pante, dentro, natural mente, das l i mi taes da poca e do seu mei o
soci ocul tural . El e no era si mpl esmente um moral i sta vi tori ano como
o chamou Schumpeter: no, el e prati cava o que pregava, embora em
termos rel ati vos parti ci pava, sem remunerao, de comi sses ofi ci ai s
rel ati vas a questes de i nteresse pbl i co e soci al , convi vi a com l deres
si ndi cai s e associ aes operri as etc. A sua mensagem soci al , conti da,
pri nci pal mente, nos Princpios, mas i gnorada ou subesti mada por l ei -
tores desavi sados ou preconcei tuosos, parte i ntegrante e rel evante
desta obra, como vi mos h pouco, havendo mesmo quem a consi dere
a mai s i mportante, poi s que de mai or atual i dade. So de tal convi co
e severi dade seus pronunci amentos de natureza ti co-soci ai s, extra ou
para-econmi cos, que Levi tt di z, mordaz como sempre, que obvi amente
Mar shal l er i ge-se em ventr l oquo de Deus , separ ando o bom do
mau, o mai s el evado do mai s bai xo, o di gno do i ndi gno em matr i a
de val or es e senti mentos. Par a Mar shal l , convm l embr ar , O obje-
ti vo domi nante da Economi a contr i bui r par a a sol uo dos pr o-
bl emas soci ai s. E foi a sua pr eocupao com a pobr eza e o bem-estar
do povo convm tambm r el embr ar que o tr ouxe da I gr eja
Angl i cana par a a Economi a.
Depoi s de enumerar suas di versas e val i osas contri bui es ao
desenvol vi mento da Economi a, Schumpeter, que foi , como vi mos, um
dos seus mai s agudos cr ti cos e l ci do admi rador, reconheceu que a
mai or das qual i dades da grande obra de Marshal l ai nda no foi men-
ci onada. Al m da grande conqui sta no campo da teori a, exi ste uma
mensagem ai nda mai or. Mai s do que qual quer outro economi sta
com exceo, tal vez, de Pareto Marshal l apontou para o futuro. El e
no ti nha uma teori a da competi o monopol sti ca. Mas i ndi cou-l he o
rumo, ao consi derar o mercado especi al de uma fi rma. Decl aramos
aci ma que a sua teori a pura era estri tamente estti ca, mas, tambm,
que el e apontou o rumo da di nmi ca econmi ca. No real i zou nenhum
trabal ho economtri co. Mas raci oci nou sempre tendo em vi sta o com-
pl emento estat sti co da teori a econmi ca e esforou-se para formul ar
concei tos que fossem estati sti camente operaci onai s: em seu di scurso
sobre A Vel ha e a Nova Gerao de Economi stas esboou partes i m-
MARSHALL
49
portantes do programa da Econometri a moderna.
47
E esse i nsi gne econo-
mi sta, conclui, noutro contexto, que em um outro senti do o ensi namento
de Marshal l jamai s poder desaparecer. Sua i nfl uncia perdurar por um
tempo i ndefi ni do porque ensi namento de tal ampl i tude e fora emerge
na herana das geraes subseqentes, mas tambm porque h nel e uma
qual i dade especi al que efeti vamente resi ste decadncia.
48
Marco e cami nho de passagem obri gatri a na hi stri a do pensa-
mento econmi co, os Princpios conti nuam sendo um padro de um
tratado sobre fundamentos da Economi a. Nefi tos e i ni ci ados nos es-
tudos econmi cos encontraro nesta obra-pri ma mui to que aprender e
sobre o que refl eti r, no apenas pel o seu i nesti mvel val or hi stri co
mas tambm pel o acervo i ntel ectual que se apresenta, em grande parte,
ai nda vi vo e atual .
Como di sse i ni ci al mente, a l ei tura dos autores cl ssi cos, em qual -
quer ramo do conheci mento, especi al mente de suas obras-pri mas e
os Princpios de Economia so uma del as , sempre i nstruti va e
sal utar. Que Marshal l um cl ssi co por excel nci a, no senti do l ato da
expresso, no resta a menor dvi da, poi s, segundo a sua prpri a de-
fi ni o, um autor cl ssi co aquel e que pel a forma ou pel a substnci a
de suas pal avras ou real i zaes expri me ou i ndi ca i di as arqui tetni cas
em pensamento ou senti mento, que so, at certo ponto, suas prpri as,
e que, uma vez cri adas, jamai s podem morrer, mas so um fermento
atuando i ncessantemente no Cosmo.
49
Ademai s, trata-se de um emi -
nente economi sta que, avis rara em qual quer pa s e em qual quer poca,
pensava e agi a segundo seu prpri o precei to de que a verdade a
ni ca coi sa di gna de obter-se, no a paz de esp ri to.
50
Como fecho deste ensai o, quero dei xar consi gnado de pbl i co o
meu agradeci mento a Rmul o Al mei da, co-tradutor dos Princpios a
quem, elder statesman da Economi a, da Pol ti ca e da Admi ni strao
Pbl i ca no Brasi l , caberi a, honoris causa, fazer a apresentao de Mar-
shal l aos l ei tores brasi l ei ros, mas que, generosamente como do seu
fei ti o, no s abri u mo desse seu pri vi l gi o em meu favor como i n-
centi vou-me a empreender essa honrosa tarefa. No entanto, a organi -
zao dos fatos resenhados e os concei tos aqui emi ti dos no represen-
tam, necessari amente, a sua opi ni o, sendo de mi nha i ntei ra e excl usi va
responsabi l i dade.
Ottol my Strauch
OS ECONOMISTAS
50
47 Histria da Anlise Econmica. p. 113.
48 Ten Great Economists. p. 93.
49 Carta a J. Bonar. I n: Memorials. p. 374.
50 Respondendo cr ti ca de economi stas ameri canos de que el e tentava conci l i ar doutri nas
i nconci l i vei s. Eu nunca transi gi com nenhuma doutri na di sse el e nem nunca
modi fi quei mi nhas i di as ci ent fi cas si mpl esmente por esp ri to de concorrnci a ou para
obter favores de cr ti cos. Memorials. p. 408.
Ottolmy Strauch, nasci do em Porto
Al egre e radi cado no Ri o de Janei ro,
tem os cursos de Ci nci as Jur di cas
e Soci ai s (anti ga Uni versi dade do
Brasi l ) e Admi ni strao (EUA). Par-
ti ci pante das ati vi dades de centros
de pesqui sa e pl anejamento ameri -
canos, manteve estrei to contato com
a Nova Escol a de Ci nci as Soci ai s
de Nova York. Representou o Brasi l
em Assembl i as Gerai s das Naes
Uni das, sendo el ei to vri as vezes
membro do comi t de Contri bui es
da ONU. Exerceu cargos rel evantes
na rea econmi ca do Governo Fe-
deral (membro da Assessori a Econ-
mi ca da Presi dnci a da Repbl i ca no
Governo Vargas; Di retor Executi vo
do Consel ho de Desenvol vi mento no
Governo Kubi tschek; membro da di -
reo do I nsti tuto de Resseguros do
Brasi l e do I nsti tuto do Acar e do
l cool ). Estudi oso da probl emti ca
econmi co-soci al do Brasi l , perten-
ceu ao chamado Grupo de I tati ai a
de debates e ao I BESP, de cuja re-
vi sta (Cadernos do Nosso Tempo) fez
parte da di reo. Atual mente, dedi -
ca-se a trabal hos para escri tri os de
consul tori a tcni ca e edi toras.
MARSHALL
51
ALFRED MARSHALL
PRINCPIOS DE ECONOMIA
*
TRATADO INTRODUTRIO
VOLUME I
Traduo revista de Rmul o Al mei da e Ottol my Strauch
* Traduzi do de Principles of Economics: An introductory volume. Londres, The Macmi l l an
Press Ltd. 8 edi o, 1920, rei mpresso de 1979.
A presente edi o reproduz a traduo de 1946 da Edi tora Epasa, Ri o de Janei ro, mas
i ntei ramente revi sta pel os prpri os tradutores. (N. do E.)
PREFCIO PRIMEIRA EDIO
As condi es econmi cas esto em constante mudana, e cada
gerao encara os probl emas de seu tempo de uma forma que l he
pecul i ar. Na I ngl aterra, bem como no Conti nente e na Amri ca, os
estudos econmi cos esto sendo agora i mpul si onados mai s vi gorosa-
mente do que nunca, mas toda essa ati vi dade tem apenas demonstrado
com mai or cl areza que a ci nci a econmi ca e deve ser de cresci mento
cont nuo e l ento. Al guns dos mel hores trabal hos da presente gerao
tm, de fato, pareci do, pri mei ra vi sta, antagni cos aos de passados
autores; no entanto, medi da que, com o tempo, vo se col ocando em
suas devi das propores e suas arestas mai s speras vo sendo des-
bastadas, pode se ver que no envol vem nenhuma sol uo de conti -
nui dade no desenvol vi mento da ci nci a. As novas doutri nas tm com-
pl etado as anti gas, as tm estendi do, desenvol vi do e, al gumas vezes
mesmo, corri gi do, e freqentemente l hes tm dado outro aspecto, i n-
si sti ndo de modo di ferente sobre os di versos pontos; porm mui to ra-
ramente as tm subverti do.
A presente obra uma tentati va de apresentar numa verso
moderna as vel has doutri nas, com a ajuda dos novos trabal hos e com
refernci a aos novos probl emas de nossa poca. Seus propsi tos gerai s
esto i ndi cados no Li vro Pri mei ro, no fi m do qual fei to um pequeno
resumo das matri as de i nvesti gao econmi ca consi deradas pri nci -
pai s, bem como das mai s i mportantes conseqnci as de ordem prti ca
em que essa i nvesti gao tem uma certa i nfl unci a. De acordo com as
tradi es i ngl esas, sustenta-se que a funo da ci nci a col i gi r, di spor
e anal i sar os fatos econmi cos, e apl i car o conheci mento, ganho pel a
observao e pel a experi nci a, na determi nao dos presum vei s efei tos
i medi atos e remotos dos vri os grupos de causas. Entende-se, tambm,
que as l ei s da Economi a so expresses de tendnci as formul adas de
um modo i ndi cati vo, e no precei tos ti cos no i mperati vo. As l ei s e
raci oc ni os econmi cos so, de fato, apenas uma parte do materi al que
a consci nci a e o bom senso tm que l evar em conta na resol uo de
55
probl emas prti cos e na fi xao de regras que si rvam de normas para
ori entao na vi da.
As foras ti cas esto, entretanto, entre as que o economi sta deve
consi derar. Tem-se tentado, na verdade, construi r uma ci nci a abstrata
com respei to s aes de um homem econmi co, que no esteja sob
i nfl unci as ti cas e que procure, prudente e energi camente, obter ga-
nhos pecuni ri os movi do por i mpul sos mecni cos e ego sti cos. Mas essas
tentati vas no tm si do coroadas de xi to, nem tampouco real i zadas
i ntegral mente, poi s que no tm tratado o homem econmi co como
perfei tamente ego sta. Ni ngum sabe mel hor que o homem econmi co
resi sti r ao trabal ho rduo e aos sacri f ci os, no desejo al tru sti co de
prover s necessi dades de sua fam l i a. Taci tamente se tm i ncl u do
entre os moti vos normai s as afei es fami l i ares. Mas se el es i ncl uem
estas, por que no devem, ento, i ncl ui r todos os outros moti vos al -
tru sti cos cuja ao to extensamente uni forme em qual quer cl asse,
em qual quer tempo e l ugar, que pode ser reduzi da regra geral ? Parece
no haver razo para i sso. Na presente obra consi dera-se ao normal
aquel a que se espera, sob certas condi es, dos membros de um grupo
i ndustri al , e no se tenta excl ui r a i nfl unci a de quai squer moti vos,
cuja ao seja regul ar, somente porque sejam al tru sti cos. Se este l i vro
tem al guma pecul i ari dade , tal vez, a de dar preemi nnci a a esta e
outras apl i caes do pri nc pi o de conti nui dade.
Esse pri nc pi o apl i cado no s qual i dade ti ca dos moti vos
pel os quai s um homem pode ser i nfl uenci ado na escol ha de seus fi ns,
mas tambm sagaci dade, energi a e di sposi o com que os procura.
Acentua-se, assi m, o fato de que h uma gradao cont nua das aes
dos homens da City,
51
que so baseadas em cl cul os del i berados e de
grande al cance, e executadas com vi gor e habi l i dade, at as do vul go
que no tem nem o poder nem a vontade para conduzi r os seus negci os
de um modo comerci al . O desejo normal de economi zar, bem como o
de sujei tar-se a certo esforo por uma determi nada recompensa pecu-
ni ri a, ou a esperteza normal para procurar os mel hores mercados
onde comprar e vender, ou, ai nda, para descobri r a mai s vantajosa
ocupao para si prpri o ou para seus fi l hos todas estas e outras
suposi es semel hantes sero rel ati vas aos membros de uma cl asse
parti cul ar, em determi nado l ugar e em dado tempo, mas uma vez com-
preendi do i sso, a teori a do val or normal apl i cvel do mesmo modo
s aes das cl asses de natureza no-comerci al , embora no o seja com
a mesma preci so de detal hes como s do comerci ante ou banquei ro.
Do mesmo modo que no exi ste uma l i nha n ti da de di vi so entre
uma conduta que normal e a que deve ser provi sori amente desprezada
como anormal , assi m tambm no h nenhuma entre os val ores normai s
OS ECONOMISTAS
56
51 City, centro fi nancei ro de Londres. O autor refere-se, por anal ogi a, s ati vi dades dos ban-
quei ros e homens de negci os em geral . (N. dos T.)
de um l ado e, de outro, os val ores correntes, do mercado ou oca-
si onai s. Estes l ti mos so aquel es em que os aci dentes do momento
exercem uma i nfl unci a preponderante, ao passo que val ores normai s
so os que seri am afi nal ati ngi dos se as condi es econmi cas que se
tm em vi sta ti vessem tempo de produzi r, sem perturbaes, os seus
efei tos compl etos. Mas no h nenhum abi smo i ntranspon vel entre
uns e outros: el es projetam as suas sombras uns nos outros, por gra-
daes cont nuas. Os val ores que podemos consi derar normai s, se pen-
sarmos nas transformaes que se produzem de hora a hora numa
Bol sa de Mercadori as, so somente val ores correntes se consi deramos
o decurso de um ano; e os val ores normai s com refernci a a esse per odo
no so, por sua vez, seno val ores correntes em rel ao hi stri a do
scul o. I sso porque o el emento tempo, que o centro das pri nci pai s
di fi cul dades de quase todos os probl emas econmi cos, , em si mesmo,
absol utamente cont nuo: a Natureza no conhece uma di vi so absol uta
entre per odos l ongos de tempo e per odos curtos, mas passamos de
uns a outros por gradaes i mpercept vei s, e o que um per odo curto
para um probl ema um l ongo para outro.
Assi m, por exempl o, a mai or parte, ai nda que no toda, da di s-
ti no entre renda e juro do capi tal gi ra em torno da extenso do
per odo que temos em vi sta. Aqui l o que l egi ti mamente consi derado
juro para um capi tal l i vre ou fl utuante, ou para novas i nverses
de capi tal , deve ser tratado com mai or propri edade como uma espci e
de renda a que denomi naremos, mai s adi ante, uma quase-renda
sobre i nverses anti gas de capi tal . E no exi ste uma l i nha di vi sri a
n ti da entre capi tal fl utuante e aquel e que foi i mobi l i zado num ramo
parti cul ar da produo, nem entre novas e vel has i nverses de capi tal ;
cada grupo se confunde gradual mente com o outro. E assi m vemos
i ncl u da a renda da terra, no como al go por si mesmo, mas si m como
a espci e pri nci pal de um extenso gnero, ai nda que, sem dvi da, tenha
caracter sti cas prpri as que so de i mportnci a vi tal do ponto de vi sta
da teori a e da prti ca.
Por outro l ado, embora haja uma l i nha n ti da de di vi so entre
o prpri o homem e os mei os que el e usa, e ai nda que a oferta e a
procura dos esforos e sacri f ci os humanos ofeream parti cul ari dades
que l hes so prpri as e que no so comuns oferta e procura de
bens materi ai s, ai nda assi m tai s bens materi ai s, em l ti ma anl i se,
so geral mente, el es mesmos, o resul tado do trabal ho humano. As teo-
ri as do val or do trabal ho e das coi sas por el e fei tas no podem ser
separadas: so partes de um grande todo; e as di ferenas que entre
el as exi stam mesmo em matri a de detal he, revel am-se, pel a anl i se,
na mai or parte, di ferenas de grau antes do que de natureza. Assi m
como, a despei to das grandes di ferenas de forma entre os pssaros e
quadrpedes, h uma i di a Fundamental por entre as suas estruturas,
do mesmo modo a teori a geral do equi l bri o da oferta e da procura
MARSHALL
57
uma i di a Fundamental que se encontra atravs das estruturas das
vri as partes do probl ema central da Di stri bui o e Troca.
52
Uma outra apl i cao do pri nc pi o de conti nui dade a que concerne
termi nol ogi a. Tem havi do sempre uma tentao para cl assi fi car os
bens econmi cos em grupos cl aramente defi ni dos, sobre os quai s se
possam fazer al gumas proposi es curtas e i nci si vas para sati sfazer,
ao mesmo tempo, o desejo de preci so l gi ca, por parte do estudante,
e o gosto popul ar pel os dogmas que aparentam profundi dade e que
sejam ai nda de fci l manusei o. Mas grandes mal es tal vez tenham si do
causados pel os que, no resi sti ndo tentao, traam, arti fi ci al mente,
l argas l i nhas de di vi so onde a Natureza no traou nenhuma. Quanto
mai s si mpl es e absol uta for uma doutri na econmi ca, mai or ser a
confuso que el a provoca quanto tentada sua apl i cao prti ca se
as l i nhas di vi sri as a que el a se refere no puderem ser encontradas
na vi da real . No h, na vi da real , uma l i nha n ti da de di vi so entre
as coi sas que so e as que no so Capi tal , ou as que sejam ou no
necessri as vi da, ou, ai nda, entre o Trabal ho que se consi dera pro-
duti vo e o que assi m no consi derado.
A noo de conti nui dade no que di z respei to evol uo comum
a todas as modernas escol as do pensamento econmi co, estejam el as su-
jei tas sobretudo s i nfl unci as da Bi ol ogi a, como acontece nos escri tos de
Herbert Spencer, ou da Hi stri a e da Fi l osofi a, como na Filosofia da
Histria de Hegel e em mai s recentes estudos ti co-hi stri cos no Conti nente
e em outras partes. Estas duas espci es de i nfl unci as afetaram, mai s
do que qual quer outra, a substnci a dos pontos de vi sta expressos na
presente obra, mas na forma i nspi raram-se mai s nas concepes mate-
mti cas de conti nui dade, representadas pel os Principes Mathmatiques
de la Thorie des Richesses, de Cournot.
53
El e ensi nou que necessri o
enfrentar a di fi cul dade de consi derar os vri os el ementos de um probl ema
econmi co no como determi nantes uns dos outros numa cadei a de
causas, A determi nando B, B determi nando C, e assi m por di ante mas
todos se determi nando uns aos outros. A ao da Natureza compl exa:
OS ECONOMISTAS
58
52 Em Economics of I ndustry, escri to por mi nha esposa e por mi m em 1879, tentamos mostrar
a natureza dessa uni dade fundamental . Uma breve e provi sri a expl i cao das rel aes
entre a procura e a oferta foi dada antes da teori a da Di stri bui o; apl i cou-se, ento, este
esquema de raci oc ni o geral , sucessi vamente, remunerao do trabal ho, ao juro do capi tal
e ao l ucro da admi ni strao. Mas a i di a geral deste pl ano no fi cou mui to cl ara, e, por
sugesto do professor Ni chol son, deu-se-l he mai or destaque na presente obra.
53 Antoi ne Augusti n Cournot (1801-1877), matemti co, economi sta e fi l sofo francs, foi um
verdadei ro precursor do que hoje chamamos de Econometri a ao publ i car em 1838 o seu
tratado Recherches sur les principes mathmatiques de la thorie des richesses. Como ma-
temti co especi al i sta em cl cul o de probabi l i dades (Exposition de la thorie des chances et
des probabilits. 1843), formul ou uma concepo probabi l sti ca e rel ati vi sta do conheci mento,
a qual , embora admi ti ndo a exi stnci a de ordem na Natureza e na Hi stri a, atri bu a um
papel i mportante ao acaso, consi derado este a i nterseo de sri es causai s, i ndependentes,
sobre cuja i rreduti bi l i dade basei a sua cl assi fi cao das ci nci as (Trait de lEnchainement
des I des Fundamentales dans les Sciences et dans lHistoire. 1861; Matrialisme, Vitalisme,
Rationalisme. 1875). Cf. Robert, 2. (N. dos T.)
e nada se ganhar, afi nal , pretendendo que el a seja si mpl es e tentando
descrev-l a numa sri e de proposi es el ementares.
Sob a infl uncia de Cournot, e um pouco menos de Von Thnen,
54
fui l evado a dar grande i mportnci a ao fato de que as nossas observaes
da Natureza, tanto no mundo moral quanto no f si co, rel aci onam-se menos
com quanti dades totai s do que com i ncrementos de quanti dades; e que,
em parti cul ar, a procura de uma coi sa uma funo cont nua, cujo in-
cremento margi nal ,
55
supondo-se uma posi o de equi l bri o estvel , con-
trabalana o i ncremento correspondente do seu custo de produo. No
fcil conseguir-se uma vi so cl ara e compl eta de conti nui dade, a esse
respeito, sem a ajuda de s mbol os matemti cos ou de di agramas. O uso
destes l ti mos no exi ge conheci mento especi al , e, comumente, expri me
as condi es da vi da econmi ca com mai or exati do e faci l i dade do que
os s mbol os matemti cos. Por i sso foram usados como i l ustraes supl e-
mentares nas notas da presente obra. A argumentao do texto no se
basei a nesses di agramas, que podem ser abandonados, mas a experincia
parece demonstrar que el es do uma compreenso mai s fi rme de mui tos
pri nc pi os i mportantes do que a que se obteri a sem a sua ajuda, e que
exi stem mui tos probl emas de teori a pura que ni ngum jamai s enfrentar
de outro modo, uma vez aprendendo a usar di agramas.
O pri nci pal uso da matemti ca pura em questes econmi cas
parece ser o de ajudar uma pessoa a anotar rapi damente, de uma
forma suci nta e exata, al guns de seus pensamentos, para seu prpri o
uso, bem como assegurar-se de que tem sufi ci entes premi ssas, e so-
mente o bastante, para as suas concl uses (i sto , que suas equaes
no sejam em nmero mai or ou menor do que suas i ncgni tas). Mas
quando um grande nmero de si nai s ti ver que ser usado, i sso se torna
extremamente penoso para qual quer um, exceto para o prpri o autor.
O gni o de Cournot renova a ati vi dade i ntel ectual de qual quer um
que entre em contato com el e, e matemti cos de i gual porte podem,
usando as suas armas favori tas, abri r cami nho ao centro de al guns
desses di f cei s probl emas da teori a econmi ca, cujos aspectos exteri ores
somente foram at agora abordados; ai nda assi m parece ser de provei to
duvi doso o tempo que al gum gastar na l ei tura de extensas represen-
taes matemti cas de doutri nas econmi cas se esses cl cul os no foram
fei tos pel a prpri a pessoa que os l .
Setembro de 1890.
MARSHALL
59
54 Johan Hei nri ch von Thnen (1783-1850), economi sta al emo, apl i cava em sua propri edade
rural um model o de admi ni strao em que os empregados parti ci pavam dos l ucros. autor
de O Estado I solado (Der I solierte Staat, 2v., 1824-1850). Sua pri nci pal contri bui o
teori a econmi ca foi , segui ndo Ri cardo, o estudo da renda fundi ri a, formul ando, antes
mesmo dos margi nal i stas cl ssi cos, o pri nc pi o da produti vi dade margi nal e cuja termi no-
l ogi a, neste parti cul ar, o autor adotou. Cf. Robert, 2. (N. dos T.)
55 O termo i ncremento margi nal tomei -o da obra de Von Thnen Der I solierte Staat, 1824-
1850, sendo agora comumente empregado pel os economi stas al emes. Quando apareceu a
teori a de Jevons, adotei a sua expresso fi nal , mas acabei por me convencer de que
margi nal mel hor.
PREFCIO OITAVA EDIO
Esta edi o uma rei mpresso da sti ma, que foi uma rei m-
presso da sexta, sal vo pequenas al teraes em questes de detal he.
O prefci o quase o mesmo do da sti ma edi o.
H j tri nta anos que a pri mei ra edi o deste l i vro trouxe a
promessa de um segundo vol ume que vi esse compl etar o tratado, num
tempo razovel . Mas fi z meu pl ano numa escal a demasi ado ampl a e
o seu objeti vo se ampl i ou, especi al mente na sua face real i sta, di ante
de cada i mpul so da Revol uo I ndustri al da gerao presente, que
ul trapassou as mudanas de h um scul o, tanto em rapi dez como em
ampl i tude de movi mento. Assi m, mui to cedo fui compel i do a abandonar
a esperana de compl etar a obra em doi s vol umes. Meus pl anos sub-
seqentes foram mudados mai s de uma vez, em parte pel o curso dos
aconteci mentos, em parte pel os meus outros compromi ssos e pel o de-
cl ni o de mi nha sade.
I ndustry and Trade, publ i cado em 1919, , com efei to, a conti -
nuao do presente vol ume. Um tercei ro (sobre Comrci o, Fi nana e
o Futuro da I ndstri a) est mui to adi antado. Os trs vol umes tm por
objeti vo tratar dos pri nci pai s probl emas da Economi a, at onde a ca-
paci dade do autor possa ati ngi r.
O presente vol ume fi ca poi s como uma i ntroduo geral ao estudo
da ci nci a econmi ca, semel hante em al guns aspectos, mas no no
todo, aos vol umes sobre Fundamentos (Grundlagen), que Roscher e
al guns outros economi stas l anaram como i ntroduo de col ees de
vol umes semi -i ndependentes sobre Economi a. Evi taram-se certos tpi -
cos especi ai s como mei o ci rcul ante e organi zao de mercados; e al guns
assuntos tai s como estrutura da i ndstri a, emprego e o probl ema dos
sal ri os foram encarados pri nci pal mente em condi es normai s.
A evol uo econmi ca gradual . Seu progresso de quando em
vez sobrestado ou reverti do por catstrofes pol ti cas; mas seus mo-
vi mentos progressi vos nunca so repenti nos, poi s, mesmo no mundo
oci dental e no Japo, basei am-se no hbi to, consci ente em parte e em
parte i nconsci ente. E embora um i nventor, um organi zador ou um fi -
61
nanci sta de gni o parea ter modi fi cado a estrutura econmi ca de um
povo quase que de um gol pe, uma pesqui sa revel ar que mesmo a
parte da sua i nfl unci a no meramente superfi ci al ou transi tri a no
ter fei to mai s do que l evar a termo um l argo movi mento construti vo
que h mui to se achava em gestao. As mani festaes da Natureza
que ocorrem mai s freqentemente, com tal regul ari dade que podem
ser observadas de perto e estudadas detal hadamente, consti tuem a
base da Economi a como da mai ori a dos outros trabal hos ci ent fi cos,
enquanto as espasmdi cas, i nfreqentes e di f cei s de observao fi cam
reservadas comumente para um especi al exame num estgi o ul teri or.
E a expresso Natura non facit saltum parti cul armente apropri ada
a um vol ume sobre Fundamentos da Economi a.
Um exempl o desse contraste est na di stri bui o do estudo entre
o presente vol ume e o I ndustry and Trade. Quando qual quer ramo da
i ndstri a oferece um campo aberto para novas fi rmas que al canam o
pri mei ro pl ano e tal vez decai am depoi s de al gum tempo, o custo normal
da produo nel e pode ser esti mado com refernci a a uma fi rma re-
presentati va, que goze de uma boa si tuao quer quanto s economi as
i nternas de um negci o i ndi vi dual bem organi zado, quer quanto s
economi as gerai s ou externas que decorrem do conjunto da organi zao
col eti va da regi o como um todo. Um estudo sobre tal fi rma pertence
propri amente a um vol ume sobre Fundamentos. O mesmo se d com
um estudo dos pri nc pi os sobre os quai s um monopl i o fi rmemente
estabel eci do, nas mos de um departamento do Governo ou de uma
empresa ferrovi ri a, regul a os seus preos com base pri nci pal mente
nas suas prpri as recei tas, mas tambm com mai or ou menor consi -
derao pel o bem-estar dos seus cl i entes.
Mas cessa a ao normal quando os trustes esto di sputando o
dom ni o de um grande mercado; quando esto sendo consti tu das ou
desfei tas comuni dades de i nteresses; e sobretudo quando o programa
de um estabel eci mento em parti cul ar parece di ri gi r-se no com a ni ca
preocupao do prpri o xi to comerci al , mas em subordi nao a uma
grande manobra de Bol sa, ou a qual quer campanha pel o control e de
mercados. Tai s matri as no podem ser propri amente di scuti das num
vol ume sobre Fundamentos; el as cabem num vol ume que trate de al -
guma parte da Superestrutura.
A Meca do economi sta est antes na Bi ol ogi a econmi ca do que
na Di nmi ca econmi ca. Contudo, as concepes bi ol gi cas so mai s
compl exas que as da Mecni ca: um vol ume de Fundamentos deve dar
por i sso um l ugar rel ati vamente grande s anal ogi as mecni cas. Faz-se
freqente uso do termo equi l bri o, que sugere al go de anal ogi a com
estti ca. Este fato, combi nado com a ateno predomi nante que nesta
obra dada s condi es normai s de vi da da poca moderna, susci tou
a noo de que sua i di a central estti ca antes que di nmi ca.
OS ECONOMISTAS
62
Mas, de fato, el a cui da l argamente das foras que causam movi mento:
e sua tni ca mai s da di nmi ca que da estti ca.
Todavi a, as foras a serem encaradas so to numerosas que o
mel hor tomar poucas de cada vez e el aborar um certo nmero de
sol ues parci ai s como auxi l i ares de nosso estudo pri nci pal . Comeamos
assi m por i sol ar as rel aes pri mri as de oferta, procura e preo em
rel ao a uma mercadori a parti cul ar. Reduzi mos as outras foras
i nrci a com a frase todos os outros fatores sendo i guai s: no supomos
que sejam i nertes, mas por enquanto i gnoramos sua ati vi dade. Esse
expedi ente ci ent fi co bem mai s vel ho do que a ci nci a: o mtodo
pel o qual , consci entemente ou no, homens sensatos trataram desde
tempos i memori ai s cada probl ema di f ci l da vi da ordi nri a.
Num segundo estgi o, novas foras so l i beradas do sono hi po-
tti co que l hes foi i mposto: mudanas nas condi es de procura e de
oferta de grupos determi nados de mercadori as entram em jogo, e suas
compl exas e mtuas i nteraes comeam a ser observadas. Gradual -
mente a rea do probl ema di nmi co se torna mai or, di mi nui a rea
abrangi da por pressuposi es estti cas provi sri as e, por fi m, se al cana
o grande probl ema central da Di stri bui o do Di vi dendo Naci onal entre
um vasto nmero de di ferentes agentes da produo. Entrementes, o
pri nc pi o di nmi co da Substi tui o aparece sempre em ao, fazendo
com que a procura e a oferta de qual quer sri e de agentes de produo
sejam i nfl uenci adas, atravs de canai s i ndi retos, pel os movi mentos de
procura e oferta rel ati vos a outros agentes, mesmo si tuados em remotos
campos da i ndstri a.
A pri nci pal preocupao da economi a , assi m, com seres humanos
que, para o bem ou para o mal , so i mpel i dos a mudar e progredi r.
Hi pteses estti cas fragmentri as so uti l i zadas como auxi l i ares tem-
porri as de concepes di nmi cas, ou mel hor, bi ol gi cas, mas a i di a
central da Economi a, mesmo quando somente os seus Fundamentos
esto em di scusso, deve ser a de fora vi va e de movi mento.
Houve pocas na hi stri a soci al nas quai s os traos especi ai s da
renda auferi da da propri edade da terra domi naram as rel aes huma-
nas, e tal vez el es possam novamente assegurar-se da preemi nnci a.
Mas, na era atual , a abertura de novas regi es, auxi l i ada pel as bai xas
despesas de transporte em terra e no mar, quase suspendeu a tendnci a
do Rendi mento Decrescente, no senti do em que o termo foi usado por
Mal thus e Ri cardo, quando os sal ri os semanai s dos trabal hadores
i ngl eses eram freqentemente menores do que o preo de mei o bushel
56
de bom tri go. E, contudo, se o cresci mento da popul ao deva prossegui r
por l ongo tempo, na base de um quarto da taxa atual , os val ores ren-
MARSHALL
63
56 Bushel: medi da de capaci dade para cereai s (correspondente na I ngl aterra a 36 367 l i tros
e nos Estados Uni dos a 35 238). Hoje de uso general i zado nos mercados i nternaci onai s de
gros e no noti ci ri o econmi co da i mprensa. (N. dos T.)
tvei s totai s da terra para todos os seus poss vei s usos (suposto fossem
l i vres como agora de restri es pel as autori dades pbl i cas) poderi am
novamente exceder o conjunto das recei tas deri vadas de todas as outras
formas de propri edade materi al , mesmo que a terra pudesse ento
absorver vi nte vezes mai s trabal ho humano que agora.
Nas sucessi vas edi es at a presente, tem si do dada uma pro-
gressi va i mportnci a a esses fatos; e tambm ao fenmeno correl ato
de que em cada ramo da produo e comrci o h uma margem at a
qual uma crescente apl i cao de qual quer fator ser l ucrati va sob con-
di es dadas; mas al m da qual a sua mai or apl i cao obter um ren-
di mento decrescente, a no ser que a procura cresa acompanhada de
um adequado aumento dos fatores de produo necessri os para coo-
perar com aquel e. I gual i mportnci a se atri bui u crescentemente ao
fato compl ementar de que a noo de margem no uni forme e absol uta;
vari a com as condi es do probl ema em vi sta, e, em parti cul ar, com o
per odo de tempo ao qual se refere. So uni versai s as regras de que
(1) os custos margi nai s no governam o preo; (2) apenas na margem
que a ao das foras que governam os preos podem ser expostas
l uz meri di ana; (3) a margem, que deve ser estudada com refernci a
a per odos l ongos e resul tados duradouros, di fere em carter como em
extenso da que deve ser estudada com refernci a a per odos curtos
e fl utuaes passagei ras.
As vari aes na natureza dos custos margi nai s so, na verdade,
l argamente responsvei s pel o fato bem conheci do de que os efei tos de
uma causa econmi ca no faci l mente veri fi cvei s so freqentemente
mai s i mportantes do que aquel es que esto na superf ci e e atraem os
ol hos do observador aci dental . Esta uma das di fi cul dades fundamen-
tai s subjacentes anl i se econmi ca de tempos passados e que a tem
confundi do. Sua i ntei ra si gni fi cao ai nda no , tal vez, geral mente
reconheci da, e mui to trabal ho ser necessri o antes que el a seja com-
pl etamente compreendi da.
A nova anl i se se esfora gradual mente e por tentati vas para
trazer Economi a, tanto quanto a natureza l argamente di versa do
materi al permi ti r, os mtodos da ci nci a dos pequenos i ncrementos
(comumente chamada cl cul o di ferenci al ), qual o homem deve di reta
ou i ndi retamente a mai or parte do dom ni o que obteve nos tempos
recentes sobre a Natureza f si ca. El a est ai nda na sua i nfnci a, no
tem dogmas, nem padres ortodoxos. Ai nda no teve tempo de consegui r
uma termi nol ogi a perfei tamente estabel eci da, e al gumas di ferenas so-
bre o mel hor uso de termos e outras questes subsi di ri as so apenas
um si nal de vi tal i dade. De fato, porm, h uma harmoni a e um acordo
notvei s entre os que esto trabal hando construti vamente segundo o
novo mtodo quanto aos pontos essenci ai s; especi al mente entre os que
se aprovei taram de um aprendi zado nos probl emas mai s si mpl es e
mai s defi ni dos, e, poi s, os mai s adi antados, da F si ca. Antes que uma
OS ECONOMISTAS
64
nova gerao tenha passado seu dom ni o sobre o campo l i mi tado mas
i mportante da Economi a ao qual se apl i ca no ser mai s posto em dvi da.
Mi nha esposa me ajudou e aconsel hou em todas as fases das
sucessi vas edi es desta obra. Cada uma del as deve mui to s suas
sugestes, ao seu zel o e sua cr ti ca. O dr. Keynes
57
e o sr. L. L. Pri ce
l eram do pri nc pi o ao fi m as provas da pri mei ra edi o e me auxi l i aram
mui to; e o sr. A. W. Fl ux tambm mui to fez por mi m. Entre os que
me ajudaram em pontos especi ai s, em al guns casos em mai s de uma
edi o, menci onari a especi al mente os professores Ashl ey, Cannan, Ed-
geworth, Harvefi el d, Pi gou e Taussi g; o dr. Berry, o sr. C. R. Fay e o
fal eci do professor Si dgwi ck.
58
Balliol Croft,
6, Madi ngl ey Road, Cambri dge.
Outubro de 1920.
MARSHALL
65
57 Deve tratar-se de John Nevi l l e Keynes, col ega de Marshal l em Cambri dge, autor de um
ai nda val i oso compndi o de metodol ogi a econmi ca (Scope and Method of Political Economy)
e pai do famoso economi sta John Maynard Keynes. (N. dos T.)
58 Sobre as mai s emi nentes personal i dades aqui menci onadas e seu rel aci onamento com Mar-
shal l ver o ensai o bi obi bl i ogrfi co i ntrodutri o presente edi o. (N. dos T.)
SUMRIO DO VOLUME I
LIVRO PRIMEIRO
Exame Preliminar
Cap tul o I . I ntroduo. 1. A Economi a um estudo da ri queza e um
ramo do estudo do homem. A Hi stri a do mundo foi formada por
foras rel i gi osas e econmi cas. 2. A questo da necessi dade ou
no da pobreza d o mai s el evado i nteresse Economi a. 3. A
ci nci a , no essenci al , de desenvol vi mento recente. 4. A concor-
rnci a pode ser construti va ou destruti va: mesmo quando constru-
ti va menos benfi ca do que a cooperao. Mas as caracter sti cas
fundamentai s dos negci os modernos so a l i berdade de i ndstri a
e empresa, a autoconfi ana e a previ so. . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Cap tul o I I . A Substncia da Economia. 1. A Economi a trata pri n-
ci pal mente dos i ncenti vos ao e das resi stnci as mesma, cuja
quanti dade pode ser medi da, aproxi madamente, em di nhei ro. Essa
medi da refere-se apenas s quanti dades das foras: as qual i dades
dos moti vos, sejam nobres ou i gnbei s, por sua prpri a natureza
no podem ser medi das. 2. Leva-se em conta que um xel i m tem
fora mai or para um homem pobre do que para um homem ri co:
mas a Economi a busca resul tados gerai s que so pouco afetados
por pecul i ari dades i ndi vi duai s. 3. O prpri o hbi to basei a-se em
grande parte na escol ha del i berada. 4, 5. Os moti vos econmi cos
no so excl usi vamente ego sti cos. O desejo de possui r di nhei ro
no excl ui outras i nfl unci as e pode, el e mesmo, ori gi nar-se de
moti vos nobres. A ampl i tude do si stema de medi das econmi cas
pode gradual mente estender-se at as aes em grande parte al -
tru sti cas. 6. Os moti vos para a ao col eti va so de grande e
crescente i mportnci a para o economi sta. 7. Os economi stas l i dam
basi camente com um l ado da vi da do homem; mas trata-se da vi da
de um homem real , no de um ser fi ct ci o. . . . . . . . . . . . . . . 85
Cap tul o I I I . Generalizaes ou Leis Econmicas. 1. A Economi a uti l i za
67
a induo e a deduo, mas em propores di ferentes para di ferentes
propsi tos. 2, 3. A natureza das l ei s: as l ei s das ci ncias naturais
vari am em preci so. As l ei s soci ai s e econmi cas correspondem s
das ci nci as naturai s mai s compl exas e menos exatas. 4. A relati -
vi dade do termo Normal . 5. Todas as doutri nas ci ent fi cas assumem
i mpl i ci tamente condi es: mas esse el emento hi potti co parti cul ar-
mente i mportante nas l ei s econmi cas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Cap tul o I V. A Ordem e os Objetos dos Estudos Econmicos. 1. Resumo
dos cap tul os I I e I I I . 2. As i nvesti gaes ci ent fi cas devem ajus-
tar-se, no aos fi ns prti cos a que servem, mas natureza das
matri as de que se ocupam. 3. As pri nci pai s matri as da i nves-
ti gao econmi ca. 4. Questes prti cas que esti mul am as i n-
vesti gaes dos economi stas i ngl eses na poca atual , apesar de
no estarem compl etamente dentro do campo de sua ci nci a. 5,
6. O economi sta pr eci sa pr ati car suas facul dades de per cepo,
i magi nao, raci oc ni o, si mpati a e precauo. . . . . . . . . . . . . 105
LIVRO SEGUNDO
Algumas Noes Fundamentais
Cap tul o I . I ntroduo. 1. A Economi a consi dera a ri queza um mei o de
sati sfazer as necessi dades e um resul tado de esforos. 2. A di fi cul -
dade de cl assi fi car as coi sas que esto mudando suas caracter sti cas
e seus usos. 3. A Economi a deve acompanhar a prti ca da vi da
coti di ana. 4. necessri o que as noes sejam defi ni das com cl a-
reza, mas que o uso dos termos no seja r gi do. . . . . . . . . . . 117
Cap tul o I I . A Riqueza. 1. O uso tcni co do termo Bens, Bens materi ai s.
Bens pessoai s. Bens externos e i nternos. Bens transfer vei s e i ntrans-
fer veis. Bens livres. Bens permutvei s. 2. A ri queza de uma pessoa
compe-se de seus bens externos que possam ser aval i ados em di -
nhei ro. 3. Mas s vezes necessri o usar o termo Riqueza em
senti do l ato, para i ncl ui r toda a ri queza pessoal . 4. A parti ci pao
do i ndi v duo nos bens col eti vos. 5. A ri queza naci onal . A ri queza
cosmopol i ta. As bases jur di cas dos di rei tos ri queza . . . . . 121
Cap tul o I I I . Produo. Consumo. Trabalho. Artigos de Primeira Ne-
cessidade (Necessaries). 1. O homem pode produzi r e consumi r
apenas uti l i dades, no a prpri a matri a. 2. A pal avra Produtivo
pode ser mal compreendi da e, em geral , deve ser evi tada ou ex-
pl i cada. 3. Arti gos de pri mei ra necessi dade para a exi stnci a e
para a efi ci nci a. 4. H desperd ci o quando se consome menos
do que o estr i tamente necessr i o par a a efi ci nci a. Coi sas neces-
sri as convenci onai s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
OS ECONOMISTAS
68
Cap tul o I V. Renda. Capital. 1. Renda monetr i a e capi tal mer -
canti l . 2. Defi ni es de Renda L qui da, Jur os e Lucr os, do
ponto de vi sta comum dos negci os. Vantagens e Ganhos L qui -
dos da Admi ni str ao, Quase-Rendas. 3. Cl assi fi caes de ca-
pi tal , do ponto de vi sta par ti cul ar . 4-7. Capi tal e r enda do
ponto de vi sta soci al . 8. Pr oduti vi dade e expectati va so atr i -
butos i guai s do capi tal , r especti vamente em r el ao pr ocur a
de capi tal e sua oferta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
LIVRO TERCEIRO
Sobre as Necessidades e suas Satisfaes
Cap tul o I . I ntroduo. 1. A rel ao deste l i vro com os trs segui ntes.
2. Tem-se dado pouca ateno at recentemente procura e ao
consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Cap tul o I I . As Necessidades em Relao com as Atividades. 1. O
desejo de vari edade. 2, 3. O ansei o de di sti no. 4. O ansei o
da di sti no por si mesma. A posi o defendi da em Economi a pel a
teori a do consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Cap tul o I I I . Gradaes da Procura por Consumidores. 1. A l ei das
necessi dades saci vei s ou uti l i dade decrescente. Uti l i dade total . I n-
cremento margi nal . Uti l i dade margi nal . 2. Preo de procura. 3.
Deve-se l evar em conta as vari aes na uti l i dade do di nhei ro. 4. A
programao da procura de uma pessoa. O si gni fi cado da expresso
i ncremento da procura. 5. Procura de um mercado. A l ei da procura.
6. As procuras de mercadori as ri vai s. . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Cap tul o I V. A Elasticidade das Necessidades. 1. Defi ni o de el as-
ti ci dade da procura. 2, 3. Um preo bai xo para os ri cos pode ser
al to para os pobres. 4. Causas gerai s que afetam a el asti ci dade.
5. Di fi cul dades rel aci onadas com o el emento Tempo. 6. Mu-
danas de moda. 7. Di fi cul dades na manei ra de obter as esta-
t sti cas necessri as. 8. NOTA sobre estat sti ca do consumo. Ca-
dernos de merceei ros". Oramentos de consumi dores . . . . . . 169
Cap tul o V. Escolha entre os Diferentes Usos de uma Mesma Coisa.
Usos I mediatos e Usos Diferidos. 1, 2. A di stri bui o dos mei os
de uma pessoa entre a sati sfao de di ferentes necessi dades, de
modo que o mesmo preo mea uti l i dades i guai s mesma margem
de di ferentes aqui si es. 3. A di stri bui o entre necessi dades
presentes e futuras. O desconto de benef ci os futuros. 4. A
di ferena entre o desconto de sati sfaes futuras e o desconto de
eventos futuros que possam sati sfazer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
MARSHALL
69
Cap tul o VI . Valor e Utilidade. 1. Preo e Uti l i dade. O excedente do
consumi dor. Conjuntura. 2. O excedente do consumi dor em re-
l ao com a procura por parte de um i ndi v duo; 3, 4 e em rel ao
com um mercado. Di ferenas i ndi vi duai s de caracter sti cas podem
ser omi ti das quando consi deramos a mdi a de um grande nmero
de pessoas; e se estas i ncl uem ri cos e pobres em propores i guai s,
o preo torna-se uma medi da razovel da uti l i dade, 5 desde que
se l eve em conta a ri queza col eti va. 6. A sugesto de Bernoul l i .
Aspectos mai s ampl os da uti l i dade da ri queza. . . . . . . . . . . . 189
LIVRO QUARTO
Os Agentes de Produo:
Terra, Trabalho, Capital e Organizao
Cap tul o I . I ntroduo. 1. Os agentes da pr oduo. 2. I nuti l i dade
mar gi nal . Embor a s vezes o tr abal ho seja sua pr pr i a r ecom-
pensa, mesmo assi m, sob cer tas suposi es, podemos consi der ar
sua ofer ta como r egul ada pel o pr eo que se obtm com el e. Pr eo
de oferta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Cap tul o I I . A Fertilidade da Terra. 1. A noo de que a terra um
dom gratui to da natureza, enquanto o produto da terra devi do
ao trabal ho do homem, no ri gorosamente exata: mas tem um
fundo de verdade. 2. Condi es mecni cas e qu mi cas da ferti -
l i dade. 3. A facul dade do homem de al terar a natureza do sol o.
4. Em todo caso, o r endi mento adi ci onal devi do ao capi tal e
trabal ho di mi nui , mai s cedo ou mai s tarde. . . . . . . . . . . . . . . 209
Cap tul o I I I . A fertilidade da Terra (Conti nuao). A Tendncia ao
Rendimento Decrescente. 1. A terra pode ser subcul ti vada e ento
capi tal e trabal ho adi ci onai s l he daro rendi mento crescente at
chegar a uma taxa mxi ma, aps a qual o rendi mento di mi nui r
de novo. Mtodos aperfei oados podem permi ti r que mai or capi tal
e trabal ho sejam apl i cados provei tosamente. A l ei refere-se quan-
ti dade dos produtos, no a seu val or. 2. Uma dose de capi tal e
trabal ho. Dose margi nal , rendi mento margi nal , margem de cul ti vo.
A dose margi nal no necessari amente a l ti ma no tempo. Os
produtos adi ci onai s; sua rel ao com a renda. Ri cardo l i mi tou sua
ateno s ci rcunstnci as de um pa s vel ho. 3. Toda medi da de
ferti l i dade deve ser rel ati va ao l ugar e ao tempo. 4. Como regra,
os sol os mai s pobres aumentam de val or em rel ao com os ri cos,
medi da que cresce a presso da popul ao. 5, 6. Ri cardo afi rmou
que as terras mai s ri cas eram cul ti vadas pri mei ro; e i sso verdade
no senti do que ti nha em mente. Mas el e subesti mou as vantagens
i ndi retas ofereci das agri cul tura por uma popul ao densa. 7.
OS ECONOMISTAS
70
As l ei s de rendi mento dos pesquei ros, das mi nas e da construo.
8. NOTA sobr e a l ei do r endi mento decr escente e sobr e uma
dose de capi tal e trabal ho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Cap tul o I V. O Crescimento da Populao. 1, 2. Hi stri a da doutri na
da popul ao. 3. Malthus. 4, 5. Taxa de nupci al i dade e taxa de
natal i dade. 6, 7. Hi stri a da popul ao na I ngl aterra. . . . . . 235
Cap tul o V. A Sade e o Vigor da Populao. 1, 2. Condi es gerai s
de sade e vi gor. 3. Coi sas necessri as vi da. 4. Esperana,
l i berdade e mudana. 5. A i nfl unci a da ocupao. 6. A i nfl unci a
da vi da na ci dade. 7, 8. A natureza, entregue a si mesma, tende
a el i mi nar os fracos. Contudo, mui tas aes humanas bem-i nten-
ci onadas reduzem o cresci mento dos fortes e permi tem que os fracos
sobrevi vam. Concl uso prti ca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Cap tul o VI . A Aprendizagem I ndustrial. 1, 2. Trabal ho no especi a-
l i zado, uma expresso rel ati va. A especi al i zao com a qual estamos
fami l i ari zados, no a consi deramos, freqentemente, especi al i za-
o. A mera habi l i dade manual est perdendo i mportnci a em re-
l ao i ntel i gnci a e ao vi gor em geral . Capaci dade geral e ha-
bi l i dade especi al i zada. 3-5. A educao l i beral e tcni ca. Apren-
di zagens. 6. A educao art sti ca. 7. A educao como um i n-
vesti mento naci onal . 8. A mobi l i dade est aumentando entre as
categori as e no i nteri or del as. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Cap tul o VI I . O Crescimento da Riqueza. 1-3. At recentemente foram
pouco uti l i zadas as formas custosas de capi tal auxi l i ar, mas agora
el as esto aumentando rapi damente, assi m como a capaci dade de
acumul ar. 4. A segurana como condi o de poupana. 5. O
cresci mento de uma economi a monetri a proporci ona novas ten-
taes para a extravagnci a; mas tem permi ti do s pessoas que
caream de capaci dade para os negci os obter os frutos da pou-
pana. 6. O pri nci pal moti vo da poupana o afeto fami l i ar.
7. As fontes de acumul ao. As acumul aes pbl i cas. A cooperao.
8. A escol ha entre sati sfaes presentes e di feri das. A espera ou
o adi amento da sati sfao geral mente est presente na acumul ao
de r i queza. O jur o sua r ecompensa. 9, 10. Quanto mai or for
a taxa de ganho, mai or a taxa de poupana, como nor ma. Mas
h excees. 11. NOTA sobr e as estat sti cas do cr esci mento
da ri queza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Cap tul o VI I I . Organizao I ndustrial. 1, 2. A doutri na de que a
organi zao aumenta a efi ci nci a anti ga, mas Adam Smi th deu-
l he vi da nova. Economi stas e bi l ogos tm trabal hado juntos na
anl i se da i nfl unci a exerci da pel a l uta pel a sobrevi vnci a sobre
a organi zao; seus traos mai s speros so suavi zados pel a he-
MARSHALL
71
redi tari edade. 3. As castas anti gas e as cl asses modernas. 4,
5. Adam Smi th era moderado, mas mui tos de seus segui dores exa-
geraram a economi a da organi zao natural . O desenvol vi mento
das facul dades pel o uso; e sua herana pel a apr endi zagem pr ecoce
e, possi vel mente, por outras formas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Cap tul o I X. Organizao I ndustrial (Conti nuao). Diviso do Traba-
lho. A I nfluncia da Maquinaria. 1. A prti ca l eva perfei o.
2. Nas categori as i nferi ores de trabal ho, mas nem sempre nas
superi ores, a extrema especi al i zao aumenta a efi ci nci a. 3. As
i nfl unci as exerci das pel a maqui nari a sobre a qual i dade da vi da
humana so parci al mente boas e parci al mente ms. 4. A ma-
qui nari a constru da mecani camente est i ntroduzi ndo a nova era
das peas i ntercambi vei s. 5. Exempl o das artes grfi cas. 6.
A maqui nari a al i vi a o esforo dos mscul os humanos; e evi tando
assi m a monotoni a do trabal ho, evi ta-se a monotoni a da vi da.
7. Comparao entre habi l i dade especi al i zada e maqui nari a espe-
ci al i zada. Economi as i nternas e externas. . . . . . . . . . . . . . . . 303
Cap tul o X. Organizao I ndustrial (Conti nuao). Concentrao de I n-
dstrias Especializadas em Certas Localidades. 1. I ndstri as l oca-
lizadas: suas formas primitivas. 2. Suas vri as ori gens. 3. Suas
vantagens; apti do heredi tri a; o surgi mento de i ndstri as subsi di -
ri as; o uso de maqui nri o al tamente especi al i zado; um mercado l ocal
para mo-de-obra especi al i zada. 4. A infl unci a do mel horamento
dos mei os de comuni caes sobre a di stri buio geogrfi ca de i nds-
tri as. Exempl o da hi stri a recente da I ngl aterra. . . . . . . . . . 317
Cap tul o XI . Organizao I ndustrial (Conti nuao). Produo em Larga
Escala. 1. As i ndstri as t pi cas para nosso presente propsi to
so as que se ocupam da manufatura. A economi a de materi al .
2-4. As vantagens de uma grande fbri ca com respei to ao uso e
aperfei oamento de maqui nri o especi al i zado; na compra e na ven-
da; na apti do especi al i zada; e na subdi vi so do trabal ho de ad-
mi ni strao de empresa. Vantagens do pequeno i ndustri al e em
termos de superi ntendnci a. Os avanos modernos no campo do
conheci mento atuam em grande parte a seu favor. 5. Em ramos
que oferecem grande economi a na produo em l arga escal a, uma
fi rma pode crescer rapi damente; contanto que possa comerci al i zar
faci l mente, mas mui tas vezes no consegue faz-l o. 6. Grandes
e pequenos estabel eci mentos comerci ai s. 7. Os ramos de trans-
portes. Mi nas e pedrei ras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Cap tul o XI I . Organizao I ndustrial (Conti nuao). A Direo das Em-
presas. 1. O arteso pri mi ti vo tratava di retamente com o con-
sumi dor; e hoje o que fazem geral mente os profi ssi onai s l i berai s.
OS ECONOMISTAS
72
2. Mas na mai ori a dos negci os i ntervm uma cl asse especi al
de empresri os. 3, 4. Os pri nci pai s ri scos do empreendi mento
esto s vezes separados da admi ni strao detal hada nos ramos
da construo e al gumas outras reas. O empresri o que no
empregador. 5. As facul dades exi gi das no fabri cante i deal . 6.
O fi l ho de um homem de negci os comea com tantas vantagens
que se poderi a supor que os homens de negci os formam al go pa-
reci do com uma casta; os moti vos pel os quai s no ocorre esse re-
sul tado. 7. Empresas i ndi vi duai s. 8, 9. Soci edades anni mas.
Empresas do Governo. 10. Associ ao cooperati va. Parti ci pao
nos l ucros. 11. As oportuni dades de ascenso do trabal hador.
El e tem menos obstrues do que parece pri mei ra vi sta, na sua
necessi dade de capi tal ; o fundo para emprsti mos est aumentando
rapi damente. Mas a crescente compl exi dade dos negci os atua con-
tra el e. 12. Um hbi l homem de negci os aumenta rapi damente
o capi tal sob seu comando; e um que no tem uma grande capa-
ci dade geral mente perde seu capi tal tanto mai s rapi damente quan-
to mai or for o seu negci o. Essas duas foras tendem a ajustar o
capi tal capaci dade exi gi da para uti l i z-l o bem. A capaci dade para
negci os que di spe de capi tal tem um preo de oferta bastante
bem defi ni do num pa s como a I ngl aterra. . . . . . . . . . . . . . . . 339
Cap tul o XI I I . Concluso. Correlao entre as Tendncias ao Rendi-
mento Crescente e ao Rendimento Decrescente. 1. Resumo dos
l ti mos cap tul os deste l i vro. 2. O custo da produo deveri a ser
tomado em rel ao com uma fi rma representati va, com acesso nor-
mal s economi as i nterna e externa pertencentes a um determi nado
vol ume total de produo. Rendi mento constante e rendi mento cres-
cente. 3. Um cresci mento nos nmeros geral mente acompa-
nhado de um cresci mento mai s do que proporci onal na efi ci nci a
col eti va. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
MARSHALL
73
LIVRO PRIMEIRO
Exame Preliminar
CAPTULO I
Introduo
1. Economi a Pol ti ca ou Economi a, um estudo da Humani dade
nas ati vi dades correntes da vi da; exami na a ao i ndi vi dual e soci al
em seus aspectos mai s estrei tamente l i gados obteno e ao uso dos
el ementos materi ai s do bem-estar.
Assi m, de um l ado um estudo da ri queza; e do outro, e mai s
i mportante, uma parte do estudo do homem. Poi s o carter do homem
tem si do mol dado pel o seu trabal ho quoti di ano e pel os recursos ma-
teri ai s que busca por esse mei o, mai s do que por outra i nfl unci a qual -
quer, parte a dos i deai s rel i gi osos. Os doi s grandes fatores na hi stri a
do mundo tm si do o rel i gi oso e o econmi co. Aqui e al i o ardor do
esp ri to mi l i tar ou art sti co predomi nou por al gum tempo; mas as i n-
fl unci as rel i gi osas e econmi cas nunca foram desl ocadas do pri mei ro
pl ano, mesmo passagei ramente, e quase sempre foram mai s i mportan-
tes do que as outras todas juntas. Os moti vos rel i gi osos so mai s i n-
tensos do que os econmi cos, mas sua ao di reta raro se estende sobre
uma to grande parte da vi da. Porque a ocupao pel a qual uma pessoa
ganha a vi da marca geral mente os seus pensamentos, durante a mai or
parte das horas em que a sua mente est no mel hor da ati vi dade,
durante as quai s seu carter se vai formando pel a manei ra como el a
usa das suas facul dades no trabal ho, pel os pensamentos e senti mentos
que este sugere, e pel as suas rel aes com os companhei ros de trabal ho,
os seus patres ou empregados.
E mui to freqentemente a i nfl unci a exerci da sobre o carter de
uma pessoa pel a i mportnci a da sua renda apenas menor, quando
menor, do que a exerci da pel o mei o de ganh-l a. Pode fazer pequena
di ferena para a pl eni tude de vi da de uma fam l i a o ser a sua renda
anual de 1 000 ou de 5 000 l i bras; mas a di ferena grande se a
renda for de 30 ou 150 l i bras: poi s com 150 l i bras a fam l i a tem as
condi es materi ai s de uma vi da sati sfatri a, enquanto com 30 l i bras
no as tem. verdade que na rel i gi o, nas afei es de fam l i a e na
77
ami zade, mesmo o pobre pode encontrar objeto para mui tas das facul -
dades que so a fonte da mai or fel i ci dade. Mas as condi es que en-
vol vem a extrema pobreza, especi al mente em l ugares densamente ha-
bi tados, tendem a amortecer as facul dades superi ores. Aquel es que
tm si do chamados a escri a das nossas grandes ci dades tm pouca
oportuni dade para a ami zade; nada conhecem do decoro e do sossego,
e mui to pouco mesmo da uni o da vi da de fam l i a; e a rel i gi o fre-
qentemente no chega a al can-l os. Se suas doenti as condi es f si cas,
mentai s e morai s so em parte devi das a outras causas al hei as po-
breza, esta, sem dvi da, a causa pri nci pal .
E, al m da ral , h grandes conti ngentes da popul ao, tanto
nas ci dades como no campo, que crescem com i nsufi ci nci a de al i mento,
de vesturi os e de al ojamentos, com educao cedo i nterrompi da a fi m
de i rem ganhar o sustento no trabal ho, ocupando-se desde ento du-
rante l ongas horas em esforos exausti vos com corpos mal nutri dos, e
no tendo assi m oportuni dade de desenvol ver suas mai s al tas facul -
dades mentai s. Sua vi da no necessari amente i nsal ubre ou i nfel i z.
Contentando-se com suas afei es para com Deus e o homem, e s
vezes mesmo possui ndo certa natural del i cadeza de senti mentos, podem
l evar uma vi da menos i ncompl eta do que a de mui tos que di spem de
mai or ri queza materi al . Mas, com tudo i sso, sua pobreza l hes um
grande e quase absol uto mal . Mesmo quando esto bem de sade, seu
esgotamento freqentemente causa agudo mal -estar, seus prazeres so
poucos; e quando vem a doena, o sofri mento causado pel a pobreza
aumenta dez vezes. E, embora um esp ri to resi gnado possa consegui r
reconci l i -l as com esses mal es, outros h com os quai s esse esp ri to
no se acomodar. Com excesso de trabal ho e i nsufi ci nci a de i nstruo,
cansados e depri mi dos, sem sossego e sem l azer, no tm oportuni dade
para aprovei tar o mel hor de suas facul dades mentai s.
Conquanto alguns dos males que comumente vm com a pobreza
no sejam conseqncias necessri as desta, de uma maneira geral a
perdi o do pobre a sua pobreza, e o estudo das causas da pobreza
o estudo das causas da degradao de uma grande parte da Humani dade.
2. A escravi do era consi derada por Ari sttel es uma regra da
Natureza, e provavel mente tambm o era pel os prpri os escravos nos
tempos anti gos. A di gni dade do homem foi procl amada pel a rel i gi o
cri st, e foi afi rmada com crescente veemnci a durante os l ti mos cem
anos, mas s com a di fuso da educao durante os tempos recentes
comeamos a senti r a i ntei ra i mportnci a destas pal avras. Agora, afi nal ,
nos di spomos seri amente a i nvesti gar se necessri o haver as di tas
cl asses bai xas, i sto , se preci so haver um grande nmero de pessoas
condenadas desde o bero ao rude trabal ho a fi m de prover os requi si tos
de uma vi da refi nada e cul ta para os outros, enquanto el as prpri as
OS ECONOMISTAS
78
so i mpedi das por sua pobreza e l abuta de ter qual quer quota ou par-
ti ci pao nessa vi da.
A esperana de que a pobreza e a i gnornci a possam ser gra-
dual mente exti ntas encontra de fato grande fundamento no seguro
progresso das cl asses operri as durante o scul o XI X. A mqui na a
vapor l i vrou-as de mui tos l abores exausti vos e degradantes; os sal ri os
subi ram; a educao progredi u e se tornou mai s general i zada; a ferrovi a
e a i mprensa permi ti ram aos membros de um mesmo of ci o em di fe-
rentes partes do pa s comuni carem-se faci l mente entre si , l anando e
l evando a efei to uma pol ti ca de l i nhas ampl as e de l arga vi so; en-
quanto a crescente procura de trabal ho i ntel i gente operou nas cl asses
de art fi ces um cresci mento to rpi do que el as agora superam o nmero
dos trabal hadores no qual i fi cados. Uma grande parte dos art fi ces
dei xou de fazer parte das cl asses bai xas, no senti do ori gi nal do termo,
e al guns del es j l evam uma vi da mai s refi nada e superi or da mai ori a
das cl asses al tas de um scul o atrs.
Este progresso contri bui u mai s do que qual quer outra coi sa para
dar i nteresse prti co questo se real mente i mposs vel que todos
possam comear no mundo com uma justa oportuni dade de l evar uma
vi da cul ta, l i vre das penas da pobreza e das i nfl unci as estagnantes
das l abutas excessi vamente mecni cas; e esta questo est sendo i m-
pul si onada pel a crescente consci enti zao da poca.
A questo no pode ser i ntei ramente respondi da pel a cinci a eco-
nmi ca, poi s depende em parte das vi rtudes morai s e pol ti cas da natureza
humana, e sobre estas matri as o economi sta no tem mei os especi ai s
de i nformao: el e deve fazer o que os outros fazem e conjeturar da mel hor
manei ra poss vel . Mas a sol uo depende em grande parte de fatos e
infernci as que esto na prov nci a da Economi a, e i sto o que d aos
estudos econmi cos seu pri nci pal e mai s al to i nteresse.
3. Podi a esperar-se que uma ci nci a que cui da de questes to
vi tai s para o bem-estar da Humani dade ti vesse ocupado a ateno de
mui tos dos mai s hbei s pensadores de todas as pocas e esti vesse agora
bem encami nhada para a maturi dade. Mas o fato que o nmero de
ci enti stas da economi a tem si do sempre pequeno em rel ao di fi cul -
dade do trabal ho a real i zar, pel o que a ci nci a est ai nda quase na
i nfnci a. Uma causa di sto a pouca ateno que se tem dado rel ao
entre a Economi a e o superi or bem-estar do homem. Real mente, uma
ci nci a que tem como objeto o estudo da ri queza freqentemente
repugnante pri mei ra vi sta a mui tos estudi osos, porque os que se
esforam pel o avano das frontei ras do conheci mento raro se preocupam
em possui r ri queza para provei to prpri o.
Entretanto, uma causa mai s i mportante que mui tas das con-
di es da vi da i ndustri al , e dos mtodos de produo, di stri bui o e
consumo de que trata a mai s moderna ci nci a econmi ca, so apenas
MARSHALL
79
de data recente. contudo verdade que a mudana na substnci a no
to grande, em al guns aspectos, quanto a da forma aparente; e que
a moderna teori a econmi ca pode ser adaptada s condi es dos povos
atrasados, mui to mai s do que pri mei ra vi sta parece. Mas a uni dade
na substnci a, sob uma ml ti pl a vari edade de forma, no fci l de
se revel ar; e as mudanas de forma ti veram o efei to de fazer com que
os autores de todas as pocas no tenham ti rado do trabal ho dos seus
predecessores todo o provei to que poderi a ter si do al canado.
As condi es econmi cas da vi da moderna, embora mai s compl e-
xas, so, sob mui tos aspectos, mai s defi ni das do que as de tempos
anteri ores. Os negci os so mai s cl aramente di sti ngui dos de outros
assuntos; os di rei tos dos i ndi v duos quer em rel ao aos outros, quer
em face da comuni dade, esto mai s ni ti damente defi ni dos e, aci ma de
tudo, a supresso das barrei ras e o fl oresci mento da ati vi dade l i vre,
do hbi to da previ dnci a e da i ni ci ati va, deram uma nova preci so e
uma nova preemi nnci a s causas que governam os val ores rel ati vos
das di ferentes coi sas e das di versas espci es de trabal ho.
4. Di z-se com freqnci a que as modernas formas de vi da i n-
dustri al se di sti nguem das anti gas por serem mai s competi ti vas. Mas
este ju zo no perfei tamente sati sfatri o. O si gni fi cado estri to de
concorrnci a parece ser a di sputa entre duas pessoas ori entadas espe-
ci al mente para a venda ou a compra de al guma coi sa. Esta espci e de
di sputa sem dvi da mai s i ntensa e mai s l argamente di fundi da do
que costumava ser; mas i sto s uma conseqnci a secundri a, e se
poderi a quase di zer aci dental , das caracter sti cas fundamentai s da mo-
derna vi da i ndustri al .
No h um termo que expresse essas caracter sti cas adequada-
mente. El as so, tal como veremos em segui da, uma certa i ndepen-
dnci a e hbi to de cada um escol her o seu prpri o rotei ro, uma confi ana
em si mesmo; uma del i berao e mesmo uma presteza de escol ha e
jul gamento e um hbi to de projetar o futuro e de model ar cada um o
seu programa tendo em vi sta objeti vos di stantes. Estas coi sas podem
causar e freqentemente causam a concorrnci a entre uns e outros;
mas por outro l ado podem tender, e na verdade presentemente tendem,
para a cooperao e para a combi nao de todas as naturezas, boas
ou ms. Mas estas tendnci as para a propri edade col eti va e para a
ao comum so i ntei ramente di ferentes das de tempos anti gos, porque
resul tam no do costume nem de nenhum senti mento passi vo de as-
soci ao de vi zi nhana, mas da l i vre escol ha de cada i ndi v duo da l i nha
de conduta que l he parece, depoi s de cui dadosa del i berao, a mel hor
para atender aos seus fi ns, ego stas ou no.
O termo concorrnci a adqui ri u um senti do pejorati vo, e vei o a
i mpl i car certo ego smo e i ndi ferena pel o bem-estar dos outros. certo
que h um ego smo menos del i berado nas formas anti gas da i ndstri a
OS ECONOMISTAS
80
do que nas modernas, mas tambm h um al tru smo menos del i berado.
a del i berao e no o ego smo a caracter sti ca da era moderna.
Por exempl o, enquanto o costume numa soci edade pri mi ti va es-
tende os l i mi tes da fam l i a e prescreve certos deveres em rel ao aos
vi zi nhos, os quai s ca ram em desuso numa ci vi l i zao posteri or, tambm
prescreve uma ati tude de hosti l i dade perante os estrangei ros. Numa
soci edade moderna as obri gaes de afabi l i dade fami l i ar se tornam
mai s i ntensas, embora concentradas numa rea mai s estrei ta, e os
vi zi nhos so consi derados quase estrangei ros. No tratamento ordi nri o
com uns e outros, o padro de cortesi a e honesti dade mai s bai xo do
que em parte da conduta de uma gente pri mi ti va com os seus vi zi nhos,
mas mui to mai s al to do que nas suas rel aes com os estranhos.
Assi m, apenas os l aos de vi zi nhana que foram rel axados: os de
fam l i a sob mui tos aspectos so mai s fortes que dantes, a afei o fa-
mi l i ar l eva a mui to mai s sacri f ci o e devoo do que era costume, e a
si mpati a para com todos os estrangei ros fonte progressi va de uma
espci e de i ntenci onal al tru smo que nunca exi sti u antes da era mo-
derna. O pa s que o bero da concorrnci a moderna devota mai s do
que qual quer outro uma boa parte de sua renda a fi ns cari tati vos e
gastou vi nte mi l hes na compra da l i berdade dos escravos nas ndi as
Oci dentai s.
Em todas as pocas, poetas e reformadores soci ai s tentaram es-
ti mul ar a gente do seu tempo a uma vi da mai s nobre, atravs de
encantadoras hi stri as das vi rtudes dos heri s anti gos. Mas nem os
regi stros da Hi stri a nem a observao contempornea de raas atra-
sadas, cui dadosamente estudadas, do qual quer fundamento doutri na
de que o homem em conjunto seja mai s i nsens vel e duro do que era;
ou que fosse em al gum tempo mai s capaz do que hoje para sacri fi car
sua prpri a fel i ci dade em benef ci o dos outros, quando o costume e a
l ei o dei xam l i vre para el eger sua prpri a conduta. Entre as raas cuja
capaci dade i ntel ectual parece no se ter desenvol vi do em nenhuma
outra di reo, e que nada tm do poder cri ador do moderno homem
de negci os, se encontraro mui tas com uma habi l i dade mal s de fazer
um comrci o desapi edado mesmo com os seus vi zi nhos. No h mer-
cadores mai s i nescrupul osos em ti rar vantagem das necessi dades do
i nfortunado do que os negoci antes de tri go e os emprestadores de di -
nhei ro do Ori ente.
Por outro l ado, a era moderna abri u i ndubi tavel mente novas por-
tas desonesti dade no comrci o. O avano da ci nci a descobri u novos
processos de fazer as coi sas parecerem o que no so, e tornou poss vel
mui tas novas formas de adul terao. O produtor est agora mui to di s-
tanci ado do l ti mo consumi dor e suas fraudes no recebem a puni o
pronta e severa que cai sobre a cabea de quem, l i mi tado a vi ver e
morrer na al dei a natal , faa um papel desonesto com um dos seus
vi zi nhos. As oportuni dades para a vel hacari a so por certo mai s nu-
MARSHALL
81
merosas hoje do que anti gamente, mas no h razo para pensar que
o homem l ance mo de mai or proporo dessas oportuni dades do que
l anava. Ao contrri o, os modernos mtodos de comrci o i mpl i cam em
hbi tos de confi ana de um l ado e o poder de resi sti r tentao da
desonesti dade de outro, os quai s no exi stem em povos atrasados.
Exempl os de si mpl es l eal dade e de fi del i dade pessoal se encontram
em todas as condi es soci ai s, mas os que tentaram estabel ecer um
negci o de ti po moderno num pa s atrasado di fi ci l mente puderam contar
com os nati vos para preencher os cargos de confi ana. mesmo mai s
di f ci l passar sem recorrer i mportao de gente para os trabal hos
que exi gem um forte carter moral , do que para as tarefas que requerem
grande engenho e habi l i dade mental . A adul terao e a fraude no co-
mrci o veri fi cam-se na I dade Mdi a numa extenso que espantosa
se consi deramos as di fi cul dades de causar dano sem ser descoberto
nessa poca.
Em todos os estgi os da ci vi l i zao nos quai s o poder do di nhei ro
foi preemi nente, poetas e prosadores se del ei taram em pi ntar uma
passada I dade de Ouro antes que fosse senti da a urgnci a do si mpl es
ouro materi al . Seus quadros i d l i cos eram bel os e esti mul aram nobres
pensamentos e resol ues, mas ti nham pouca verdade hi stri ca. Pe-
quenas col eti vi dades, com necessi dades reduzi das, para cuja sati sfao
a Natureza foi prdi ga, vi veram de fato, em vri os casos, quase i ntei -
ramente l i vres das preocupaes materi ai s e no foram tentadas por
ambi es srdi das. Mas sempre que podemos penetrar na vi da nti ma
de uma densa popul ao do nosso tempo, em condi es pri mi ti vas,
encontramos mai s necessi dades, mai s exi gi dade e mai s dureza de
vi da do que pareci a a di stnci a; e nunca encontramos um conforto
mai s l argamente di fundi do, l i gado a menor sofri mento do que o exi s-
tente no mundo oci dental de hoje. No devemos por i sto di famar as
foras que fi zeram a ci vi l i zao moderna com um nome que sugi ra
mal ef ci o.
No seri a razovel tal vez que tal sugesto se l i gasse ao termo
concorrnci a; embora de fato se l i gue. Efeti vamente, quando a con-
corrnci a acusada e suas formas anti -soci ai s so real adas, raramente
se cui da de i nvesti gar se h outras formas, to essenci ai s manuteno
da energi a e da espontanei dade, que a sua cessao seri a provavel mente
danosa, em l ti ma anl i se, ao bem-estar soci al . Os comerci antes ou
produtores que veri fi cam estar um ri val oferecendo mercadori as a preo
mai s bai xo do que aquel e que l hes poderi a dei xar um bom l ucro, re-
vol tam-se com a sua i ntruso e l amentam o preju zo que sofrem; mesmo
assi m, pode acontecer que os que compraram as mercadori as mai s
baratas tenham mai ores necessi dades do que el es, e que a energi a e
os recursos do ri val representem uma vantagem soci al . Em mui tos
casos regul ar a concorrnci a um termo enganoso, que di sfara a
formao de uma cl asse pri vi l egi ada de produtores que freqentemente
OS ECONOMISTAS
82
usa de sua combi nao de foras para frustrar os esforos de um homem
capaz de subi r de uma cl asse mai s bai xa do que a del es. Sob o pretexto
de repri mi r a concorrnci a anti -soci al , el es o pri vam da l i berdade de
abri r para si uma nova carrei ra, na qual os servi os prestados aos
consumi dores seri am mai ores do que os danos que i nfl i ge ao grupo
rel ati vamente pequeno que se ope a que se l hes faam concorrnci a.
Se a concorrnci a posta em contraste com a enrgi ca cooperao
de trabal ho no ego sta para o bem pbl i co, ento as mel hores formas
de concorrnci a so rel ati vamente perni ci osas, e suas formas mai s gros-
sei ras e bai xas so abomi nvei s. Em um mundo no qual todos os homens
fossem perfei tamente vi rtuosos, a competi o no teri a l ugar, mas o
mesmo aconteceri a com a propri edade parti cul ar e qual quer forma de
di rei to pri vado. Os homens pensari am s nos seus deveres, e nenhum
desejari a ter uma quota mai or de conforto e l uxo do que os seus vi zi nhos.
Os produtores mai s fortes faci l mente suportari am o fardo mai s pesado
e admi ti ri am que os seus vi zi nhos mai s fracos, embora produzi ndo
menos, el evassem o seu consumo. Fel i zes nesta manei ra de pensar,
el es trabal hari am para o bem geral com toda a energi a e esp ri to i n-
venti vo, e a i ni ci ati va arrebatada que ti vessem, e o gnero humano
seri a vi tori oso na l uta contra a Natureza em todas as ocasi es. Tal a
I dade de Ouro que poetas e sonhadores podem vi si onar. Mas, numa
conduta responsvel da vi da, pi or do que a l oucura i gnorar as i m-
perfei es ai nda i manentes da natureza humana.
A Hi stri a em geral , e especi al mente a das aventuras soci al i stas,
mostra que os homens comuns raro so capazes de um puro i deal
al tru sta por tempo consi dervel , e que as excees s se encontram
quando o i mperi oso fervor de um pequeno grupo de entusi astas rel i -
gi osos no faz conta das coi sas materi ai s em face da grandeza da f.
Os homens, sem dvi da, mesmo agora, tm uma capaci dade de
servi o desi nteressado mui to mai or do que a que demonstram, e o
supremo fi m do economi sta descobri r como este l atente ati vo soci al
pode ser desenvol vi do com mai s presteza e computado mai s l argamente.
No deve el e, porm, proscrever a concorrnci a em geral sem anl i se;
i mpe-se que mantenha uma ati tude neutra em face de qual quer de
suas mani festaes parti cul ares at veri fi car se, sendo a natureza hu-
mana como , a restri o da concorrnci a no seri a mai s anti -soci al
nos seus resul tados do que a prpri a competi o.
Podemos concl ui r, poi s, que o termo concorrnci a no mui to
adequado para desi gnar as caracter sti cas especi ai s da vi da i ndustri al
da poca moderna. Preci samos de uma expresso que no i mpl i que
quai squer qual i dades morai s, boas ou ms, mas que i ndi que o fato
i ndi scut vel de que o comrci o e a i ndstri a modernos so caracteri zados
por mai or confi ana do i ndi v duo em si mesmo, mai s previ so e mai s
refl exo e l i berdade de escol ha. No h para i sto uma expresso ade-
quada. Mas Liberdade de I ndstria e de Empreendimento, ou mai s
MARSHALL
83
brevemente Liberdade Econmica, est no bom rumo, e pode ser em-
pregada na fal ta de al go mel hor. Natural mente, esta escol ha del i berada
e l i vre pode dar l ugar a uma certa rennci a da l i berdade i ndi vi dual
quando a cooperao ou a associ ao parece oferecer o mel hor cami nho
para o fi m al mejado. At onde essas del i beradas formas de associ ao
podero destrui r a l i berdade na qual ti veram ori gem, e at onde so
capazes de l evar prosperi dade pbl i ca, so questes que ul trapassam
o escopo do presente trabal ho.
59
OS ECONOMISTAS
84
59 Essas questes ocupam um l ugar consi dervel no vol ume a aparecer sobre I ndustry and Trade.
CAPTULO II
A Substncia da Economia
1. ECONOMI A um estudo dos homens tal como vi vem, agem
e pensam nos assuntos ordi nri os da vi da. Mas di z respei to, pri nci -
pal mente, aos moti vos que afetam, de um modo mai s i ntenso e cons-
tante, a conduta do homem na parte comerci al de sua vi da. Todo i n-
di v duo que tem al gum val or pe nos seus negci os o mel hor de sua
natureza; e no comrci o, como em outras ati vi dades, el e i nfl uenci ado
por suas afei es pessoai s, por suas concepes de dever e respei to
pel os i deai s el evados. A verdade que as mel hores energi as dos mai s
hbei s i nventores e organi zadores de mtodos e i nstrumentos aperfei -
oados so mai s esti mul adas por uma nobre emul ao do que pel o
amor ao di nhei ro em si . Contudo, o moti vo mai s constante para a
ati vi dade dos negci os o desejo da remunerao, a recompensa ma-
teri al do trabal ho. Essa remunerao poder ser gasta ego sti ca ou
al trui sti camente, para fi ns nobres ou mesqui nhos, e ni sto i nfl ui a va-
ri edade da natureza humana. Mas o moti vo dado por uma determi -
nada soma de di nhei ro: e esta exata e determi nada medi da em di -
nhei ro que permi ti u Economi a avanar sobre os demai s ramos do
estudo do homem. Assi m como a bal ana de preci so do qu mi co torna
a Qu mi ca mai s exata do que as outras ci nci as f si cas, do mesmo
modo a bal ana do economi sta, apesar de grossei ra e i mperfei ta, deu
Economi a uma exati do mai or do que a de qual quer outro ramo da
Ci nci a Soci al . Natural mente a Economi a no se pode comparar com
as ci nci as f si cas exatas, poi s que el a se rel aci ona com as foras suti s
e sempre mutvei s da natureza humana.
A vantagem que a Economi a l eva sobre os demai s ramos da Ci n-
ci a Soci al parece, ento, decorrer do fato de que o seu campo espec fi co
de trabal ho d mai or oportuni dade de apl i cao aos mtodos preci sos.
Refere-se, pri nci pal mente, a esses desejos, aspi raes e outras mani -
festaes da natureza humana, cujas exteri ori zaes aparecem como
i ncenti vos ao, em forma tal que a sua fora ou quanti dade pode
85
ser aval i ada e medi da com uma certa exati do, e que, por consegui nte,
se presta a ser estudada por mei os ci ent fi cos. Cri a-se uma oportuni dade
para os mtodos e exames ci ent fi cos to depressa a fora dos moti vos
de uma pessoa no os moti vos em si mesmos possa ser aproxi -
madamente medi da pel a soma de di nhei ro que essa pessoa despender
para obter uma desejada sati sfao, ou, do mesmo modo, pel a soma
necessri a para i nduzi -l a a suportar uma certa fadi ga.
essenci al notar que o economi sta no se arroga a possi bi l i dade
de medi r di retamente as i ncl i naes do esp ri to, mas s i ndi retamente
atravs de seus efei tos. Ni ngum pode comparar e medi r exatamente,
um em rel ao a outro, nem mesmo os seus prpri os estados de esp ri to
em momentos di versos, nem tampouco pode al gum medi r os estados
de esp ri to de outrem, seno i ndi retamente e por conjectura atravs
de seus efei tos. cl aro que vri as i ncl i naes pertencem a uma parte
mai s nobre da natureza, e outras mai s bai xa, sendo, por consegui nte,
de espci es di ferentes. Mas, mesmo se restri ngi rmos a nossa ateno
somente aos prazeres e sofri mentos f si cos da mesma espci e, concl ui -
remos que el es s podem ser comparados i ndi retamente pel os seus
efei tos. De fato, at mesmo essa comparao , at certo ponto, neces-
sari amente conjectural , a menos que aquel es senti mentos ocorram na
mesma pessoa, ao mesmo tempo.
Os prazeres que duas pessoas sentem com o uso do fumo, por
exempl o, no podem ser di retamente comparados; nem mesmo a sen-
sao que uma pessoa experi menta, com i sso, em di ferentes ocasi es.
Mas se encontramos uma pessoa em dvi da sobre se deve gastar uns
poucos centavos em um charuto, numa x cara de ch ou em tomar
uma conduo em vez de andar a p, ento podemos, comumente, di zer
que espera obter dessas coi sas prazeres i guai s.
Se, ento, desejarmos comparar sati sfaes f si cas, devemos faz-
l o no di retamente, mas i ndi retamente, pel os i ncenti vos que el as ofe-
recem ao. Se os desejos de obter qual quer um de doi s prazeres
l evarem i ndi v duos em ci rcunstnci as si mi l ares a trabal har cada um
uma hora extraordi nri a, ou, a homens do mesmo n vel soci al e de
recursos i guai s, a pagarem, cada um, um xel i m por esse prazer, po-
deremos afi rmar, ento, que esses prazeres so i guai s para os nossos
fi ns, poi s que os desejos que despertam so i ncenti vos i gual mente fortes
para i ndi v duos em i dnti cas ci rcunstnci as.
Assi m, medi ndo um estado de esp ri to, como os homens fazem
comumente na vi da, pel a fora propul sora ou o i ncenti vo que oferece
ao, nenhuma nova di fi cul dade susci tada pel o fato de que al guns
dos moti vos que ti vermos de l evar em conta pertencem parte mai s
nobre da natureza e outros, i nferi or.
Suponhamos, com efei to, que a pessoa, que vi mos vaci l ar entre
di versas pequenas sati sfaes para si mesma, houvesse pensado, pas-
sados al guns momentos, em um pobre i nvl i do pel o qual deveri a passar
OS ECONOMISTAS
86
no cami nho de vol ta casa, e ti vesse gasto al gum tempo em se deci di r
sobre se deveri a escol her al guma sati sfao f si ca para si mesma ou
prati car um ato cari doso e rejubi l ar-se com a al egri a al hei a. Enquanto
seus desejos se di ri gem ora para um objeti vo ora para outro, veri fi ca-se
na qual i dade de seus estados mentai s uma mudana cuja anl i se cabe
ao psi cl ogo.
O economi sta, porm, estuda os estados de esp ri to atravs de
suas mani festaes, antes do que em si mesmos, e se acha que tai s
estados oferecem ao i ncenti vos de fora i gual , el e os trata, prima
facie, como i guai s para os seus fi ns. El e segue, de fato, de um modo
mai s paci ente e medi tado, e com mai ores precaues, o que todos sempre
fazem, di ari amente, na vi da comum. No tenta pesar o val or real das
afei es nobres da nossa natureza, em rel ao aos i mpul sos mai s bai xos;
no tenta contrastar o amor vi rtude com o desejo de al i mento sabo-
roso. Aval i a os mvei s de ao pel os seus efei tos, exatamente do mesmo
modo como faz o povo comumente; segue o curso das conversas comuns,
di feri ndo del e, somente, pel as mai ores precaues que toma em escl a-
recer os l i mi tes de seu conheci mento medi da que avana. Al cana
suas concl uses provi sri as pel as observaes dos homens em geral
sob dadas condi es, sem tentar penetrar nas caracter sti cas mentai s
dos i ndi v duos. No i gnora, porm, a parte espi ri tual e mental da vi da.
Ao contrri o, mesmo para os usos mai s restri tos dos estudos econmi cos,
i mportante saber-se se os desejos que predomi nam so dos que con-
correro para a formao de um carter forte e reto. E a uti l i zar mai s
ampl amente esses estudos, quando os apl i ca aos probl emas prti cos,
o economi sta, como qual quer outro, deve ocupar-se com os fi ns l ti mos
do homem e l evar em conta as di ferenas que exi stem, do ponto de
vi sta do val or real , entre sati sfaes que so i gual mente poderosos
i ncenti vos ao e que, por consegui nte, tm i dnti cas medi das eco-
nmi cas. O estudo dessas medi das somente o ponto de parti da da
Economi a mas, de qual quer forma, o ponto de parti da.
60
MARSHALL
87
60 As objees l evantadas por al guns fi l sofos a essa manei ra de consi derar doi s prazeres
i guai s, em quai squer ci rcunstnci as, cabem provavel mente s aos usos da expresso com
os quai s o economi sta nada tem a ver. I nfel i zmente, porm, acontece que o emprego corrente
de termos econmi cos fez crer, por vezes, que os economi stas so parti dri os do si stema
fi l osfi co do Hedoni smo ou do Uti l i tari smo. I sso porque supondo, de um modo geral , que
os mai ores prazeres sejam aquel es que deri vam do cumpri mento do dever, referi ram-se
el es aos prazeres e dores como sendo mvei s de toda a ao; e, assi m, fi caram sujei tos
censura daquel es fi l sofos que i nsi stem, por pri nc pi o, que o desejo de cumpri r o dever
uma coi sa di ferente do desejo do prazer que se possa esperar de t-l o cumpri do, ai nda
que tal vez possa ser justamente consi derado um desejo de sati sfao prpri a ou a sa-
ti sfao do Ego permanente. (Veja-se, por exempl o, GREEN, T. H. Prolegomena to Ethics.
p. 165-166).
Evi dentemente, no compete Economi a tomar parti do em controvrsi as de ti ca: e desde
que exi ste um acordo geral em que todos os i ncenti vos ao, uma vez que sejam desejos
consci entes, podem com propri edade ser consi derados sumari amente desejos de sati sfao
poss vel , por consegui nte, que mel hor seja usar esta expresso em vez de prazer,
quando nos referi rmos aos fi ns de todos os desejos, pertenam el es parte superi or ou
2. A medi da em di nhei ro dos moti vos est sujei ta a di versas
outras l i mi taes, que devem ser exami nadas. A pri mei ra del as decorre
da necessi dade de se terem em conta as vari aes no montante dos
prazeres, ou de sati sfao, que a mesma soma de di nhei ro representa
para di ferentes pessoas e em ci rcunstnci as di ferentes.
Um xel i m pode representar mai or soma de prazer, ou de uma
sati sfao qual quer num determi nado momento do que em outro, para
a mesma pessoa; ou porque o di nhei ro l he seja abundante ou porque
sua sensi bi l i dade tenha vari ado.
61
E pessoas cujos antecedentes so
i dnti cos, e que se parecem exteri ormente umas com as outras, reagem
mui tas vezes de modo bem di verso a aconteci mentos i dnti cos. Quando,
por exempl o, um grupo de escol ares l evado ao campo para passar
um di a feri ado, provvel que no haja doi s del es que si ntam com o
passei o um prazer da mesma espci e ou de i gual i ntensi dade. A mesma
operao ci rrgi ca provoca em di ferentes pessoas sofri mentos os mai s
di versos. De doi s pai s que sejam, tanto quanto se possa jul gar, i gual -
mente afetuosos, um sofrer mai s do que o outro com a perda de um
fi l ho favori to. Certas pessoas que geral mente no so mui to sens vei s,
mani festam, entretanto, uma susceti bi l i dade especi al a certas espci es
de prazeres e sofri mentos; por outro l ado, di ferenas em natureza ou
educao tornam a capaci dade total para o prazer ou a dor mai or
numa pessoa que em outra.
No seri a prudente, por consegui nte, di zer-se que doi s homens
com as mesmas rendas obtm del as benef ci os i guai s, ou que teri am
o mesmo sofri mento de uma di mi nui o i gual dessas rendas. No obs-
tante, quando um i mposto de 1 l i bra cobrado de duas pessoas com
uma renda anual de 300 l i bras, cada uma del as abri r mo do prazer
(ou outra sati sfao) representado pel o val or de 1 l i bra, que mai s fa-
ci l mente puder di spensar, i sto , cada uma abri r mo daqui l o que
representado para si , exatamente por 1 l i bra; contudo, a i ntensi dade
dos prazeres sacri fi cados tal vez no seja i gual nos doi s casos.
No obstante, se tomarmos mdi as sufi ci entemente ampl as para
permi ti r que as pecul i ari dades pessoai s dos i ndi v duos se contrabal an-
cem, o di nhei ro que as pessoas de i guai s rendi mentos despendem para
OS ECONOMISTAS
88
i nferi or da natureza humana. A ant tese si mpl es da sati sfao i nsati sfao, mas tal vez
o mel hor seja usar, em seu l ugar, a i gual mente i ncol or pal avra detri mento.
de se observar, entretanto, que al guns di sc pul os de Bentham (embora no tal vez el e
prpri o) fi zeram esse l argo uso de prazer e dor servi r de ponte para passar do Hedoni smo
i ndi vi dual sti co a um credo ti co compl eto, sem reconhecer a necessi dade de i ntroduzi r
uma premi ssa mai or i ndependente; pareceri a absol uta a necessi dade de tal premi ssa, mui to
embora di feri ssem de opi ni es sobre a sua forma. Al guns a consi deraro o I mperati vo
Categri co, enquanto outros a consi deraro uma si mpl es crena de que, seja qual for a
ori gem dos nossos senti mentos morai s, suas i ndi caes nascem de um jul gamento da ex-
peri nci a humana no senti do de que a verdadei ra fel i ci dade no se obtm sem amor-prpri o
e que este, por sua vez, s se obtm com a condi o de esforarmo-nos para vi ver de modo
a promover o progresso da raa humana.
61 Cf. EDGEWORTH. Mathematical Psychics.
obter um benef ci o ou evi tar um dano uma boa medi da do benef ci o
ou dano. Se houver mi l pessoas vi vendo em Sheffi el d, e outras tantas
em Leeds, que tenham cada uma cerca de 100 l i bras de rendi mentos
por ano, e um i mposto de 1 l i bra l anado sobre todas el as, poderemos
estar certos de que a perda de prazer ou o dano que o i mposto causar
em Sheffi el d de i mportnci a aproxi madamente i gual ao que for cau-
sado em Leeds; e se todos os rendi mentos aumentassem de 1 l i bra,
esse aumento representari a em ambas as ci dades uma soma equi va-
l ente de prazeres ou benef ci os. Essa probabi l i dade torna-se mai or ai nda
se todos os adul tos do sexo mascul i no exercerem a mesma profi sso,
poi s que, ento, de presumi r que el es tm entre si al guma semel hana
do ponto de vi sta da sensi bi l i dade e do carter, do gosto e da educao.
Nem se reduz mui to a probabi l i dade se tomarmos a fam l i a como uni -
dade e compararmos a perda de prazer resul tante da di mi nui o de
1 l i bra de rendi mento em cada uma das mi l fam l i as que, nas duas
ci dades, possuem um rendi mento de 100 l i bras.
Devemos consi derar, em segui da, o fato de que para uma pessoa
pagar um dado preo por uma coi sa, o moti vo dever ser mai s forte
no caso de uma pessoa pobre do que no de uma ri ca. Um xel i m re-
presenta menos prazer ou sati sfao de qual quer gnero para um ho-
mem ri co do que para um pobre. Um homem ri co, em dvi da sobre
se gasta um xel i m num ni co charuto, compara entre si prazeres mai s
fracos do que os contempl ados por um homem pobre que vaci l a em
gastar um xel i m numa provi so de fumo que l he durar um ms. Um
empregado que ganha 100 l i bras por ano i r a p para o escri tri o
num di a de aguacei ro, enquanto o empregado de 300 l i bras evi tar
um si mpl es chuvi sco, porque a i mportnci a da passagem de ni bus ou
bonde representa mai s para o mai s pobre do que para o mai s ri co. Se
o pobre gasta o di nhei ro da passagem, a fal ta que l he far ser mai or
do que no caso do ri co. O prazer que, no esp ri to do mai s pobre, re-
presenta esse di nhei ro mai or do que o que representari a no esp ri to
do ri co.
Mas essa fonte de erro atenuada quando consi deramos as aes
e os moti vos de grandes grupos de pessoas. Se ns sabemos, por exem-
pl o, que a fal nci a de um banco arrastou consi go 200 mi l l i bras do
povo de Leeds e 100 mi l l i bras do de Sheffi el d, podemos mui to bem
supor que o preju zo causado em Leeds foi duas vezes mai or do que
em Sheffi el d, a menos que tenhamos al guma razo especi al para acre-
di tar que os aci oni stas do banco numa dessas ci dades eram mai s ri cos
do que os da outra; ou ento que o desemprego causado pel a fal nci a
no seja senti do pel a cl asse trabal hadora em propores i guai s nas
duas ci dades.
A grande mai ori a dos eventos de que se ocupa a Economi a afeta
em propores quase i guai s as di versas cl asses da soci edade; de modo
que se as medi das em di nhei ro dos benef ci os moti vados por doi s fatos
MARSHALL
89
so i guai s, razovel e de uso comum consi derar que as quanti dades
de benef ci os so equi val entes em ambos os casos. E, ademai s, como
o mai s provvel que doi s grandes grupos de pessoas tomadas ao
acaso em doi s l ugares quai squer do mundo oci dental apl i quem a mesma
quanti dade de di nhei ro aos usos mai s el evados da vi da, exi ste, pri -
mei ra vi sta, al guma possi bi l i dade de que i guai s i ncrementos em seus
recursos materi ai s resul tem em i guai s aumentos na pl eni tude de vi da
e no verdadei ro progresso da raa humana.
3. Passemos, agora, a outro ponto. Quando di zemos que um
desejo medi do pel a ao de que o moti vo, no se deve crer que
admi tamos que toda a ao seja del i berada e o resul tado de um cl cul o.
Ni sso, como de resto em tudo o mai s, o economi sta toma o homem
exatamente como el e se apresenta na vi da ordi nri a; e na vi da comum
as pessoas no ponderam previ amente os resul tados de cada ao, seja
el a i nspi rada pel os i nsti ntos nobres ou bai xos de sua natureza.
62
Ora, o l ado da vi da de que a Economi a se ocupa especi al mente
aquel e em que a conduta do homem mai s del i berada e onde l he
ocorre, com mai or freqnci a, ponderar os prs e os contras de uma
determi nada ao antes de execut-l a. Al m di sso, essa a parte de
sua vi da onde, quando el e obedece ao hbi to e ao costume, e age no
momento sem refl eti r, mui to provvel que esses prpri os hbi tos e
costumes tenham nasci do de um exame mi nuci oso e ponderado das
vantagens e i nconveni entes dos di ferentes modos de agi r. Comumente
no se procede a um bal ano de l ucros e perdas; mas os homens, ao
regressarem a casa, depoi s de um di a de trabal ho, ou ao se encontrarem
em reuni es, di ro uns aos outros Foi um erro agi r dessa manei ra,
teri a si do mel hor agi r desse outro modo, e assi m por di ante. Se um
modo de proceder prefer vel a outro, nem sempre porque se trata
de uma vantagem pessoal ou qual quer ganho materi al ; mui tas vezes
se al egar que se esta ou aquel a manei ra de agi r poupou um pouco
OS ECONOMISTAS
90
62 I sso parti cul armente verdade com rel ao a esse grupo de sati sfaes comumente conheci do
como os prazeres da competi o (the pleasures of the chase). El as compreendem no
somente a emul ao i ntel i gente nos jogos e di straes, nas caadas e corri das, mas tambm
as l utas mai s sri as da vi da profi ssi onal e dos negci os. El as ocuparo bastante a nossa
ateno quando estudarmos as causas que determi nam os sal ri os e os l ucros, e as formas
de organi zao i ndustri al .
Al gumas pessoas so de temperamento capri choso, e nem a si prpri as poderi am expl i car
os moti vos de suas aes. Mas se um homem fi rme e poderoso, at mesmo os seus
i mpul sos so produtos de hbi tos que el e adotou mai s ou menos del i beradamente. E se
esses i mpul sos so resul tados de sua natureza nobre ou no, tenham brotado de razes
de consci nci a, da presso das rel aes soci ai s ou das exi gnci as de suas necessi dades
f si cas, el e agora l hes d uma rel ati va precednci a, sem mai or refl exo, porque em prvi as
ocasi es teve que reconhecer, del i beradamente, essa precednci a rel ati va. A atrao pre-
domi nante de um curso de ao sobre outros, mesmo quando no resul te de uma refl exo
de momento, produto de deci ses mai s ou menos del i beradas, tomadas anteri ormente em
si tuaes semel hantes.
de aborreci mento ou de di nhei ro, mas prejudi cou a tercei ros e fez
al gum parecer um mi servel ou senti r-se desprez vel .
verdade que quando um hbi to ou um costume nasci do em
certas condi es i nfl uenci am as aes de homens que se acham em
condi es di ferentes, no h mai s, a essa al tura, uma rel ao exata
entre o esforo despendi do e o resul tado por el e obti do. Nos pa ses
atrasados exi stem, ai nda, mui tos hbi tos e costumes i dnti cos aos que
l evam um castor cercado a construi r uma represa para si ; el es so
bastante sugesti vos para o hi stori ador e devem tambm ser consi de-
rados pel o l egi sl ador. Mas em assuntos de negci os, no mundo moderno,
semel hantes hbi tos desaparecem rapi damente.
Assi m, poi s, a parte mai s si stemti ca da vi da das pessoas aquel a
que el as consagram ao ganho de seu sustento. O trabal ho de todos
aquel es que esto empenhados numa ocupao qual quer suscet vel
de ser observado cui dadosamente, e ser objeto de concl uses gerai s,
veri fi cvei s por mei o de comparaes com os resul tados de outras ob-
servaes, e podem ser fei tas esti mati vas do montante em di nhei ro ou
em poder de compra para l hes dar moti vao sufi ci ente.
A rel utnci a em adi ar uma sati sfao e, desse modo, economi zar
para uso futuro, mede-se pel o i nteresse na ri queza acumul ada que
consti tui um moti vo justo e sufi ci ente para deci di r qual quer um
poupana. Este gnero de medi da apresenta entretanto al gumas di fi -
cul dades cujo estudo deve ser adi ado.
4. Aqui , como em outras partes, devemos ter sempre presente
no esp ri to o fato de que o desejo de ganhar di nhei ro no provm
necessari amente de moti vos de ordem i nferi or, mesmo quando o gas-
tamos conosco. O di nhei ro no seno um mei o para ati ngi rmos certos
fi ns; se estes so nobres, o desejo de obter os mei os de ati ngi -l os no
pode ser i gnbi l . O rapaz que trabal ha mui to e economi za o mxi mo,
de modo a poder custear mai s tarde o seu curso uni versi tri o, vi do
de di nhei ro; mas esta avi dez no tem nada de i gnbi l . Em resumo, o
di nhei ro o poder aqui si ti vo geral e se busca como um mei o que pode
servi r a todos os fi ns, nobres ou bai xos, espi ri tuai s ou materi ai s.
63
Assi m, poi s, ai nda que seja certo que o di nhei ro ou poder geral
de compra ou o dom ni o sobre a ri queza materi al seja o centro em
torno do qual gi ra a ci nci a econmi ca, i sso verdade no porque o
di nhei ro ou a ri queza materi al sejam consi derados por el a o fi m pri n-
MARSHALL
91
63 Veja-se um admi rvel ensai o de Cl i ffe Lesl i e sobre The Love of Money. Ouve-se, verdade,
fal ar de pessoas que procuram o di nhei ro em si mesmo, sem se preocupar com o que el e
l hes permi ti ri a comprar, sobretudo no fi m de uma l onga vi da consagrada aos negci os:
mas neste caso, como em outros, o hbi to de fazer al guma coi sa persi ste mesmo depoi s
que a fi nal i dade cessou de exi sti r. A posse de ri queza d a certas pessoas um senti mento
de dom ni o sobre os seus semel hantes, l he assegura um mi sto de respei to e i nveja, no que
el as encontram um prazer acre mas profundo.
ci pal do esforo dos homens, nem mesmo a pri nci pal matri a de estudo
do economi sta, mas porque no mundo onde vi vemos el e o mei o con-
veni ente para a medi da dos moti vos humanos numa l arga escal a. Se
os anti gos economi stas ti vessem expri mi do i sso cl aramente, teri am evi -
tado mui tas i nterpretaes fal sas; e os magn fi cos ensi namentos de
Carl yl e e Ruski n a respei to do verdadei ro objeti vo dos esforos do ho-
mem e o uso verdadei ro da ri queza no teri am si do prejudi cados com
amargos ataques Economi a, cal cados na i di a errnea de que esta
ci nci a no consi derasse outro mvel seno o desejo ego sta de ri queza,
ou i ncul casse um si stema de ego smo srdi do.
64
Do mesmo modo, quando se di z que os mvei s das aes de um
homem resi dem no di nhei ro que el e conta ganhar, i sso no si gni fi ca
que seu esp ri to esteja fechado a qual quer outra consi derao seno a
do ganho. Porque mesmo as rel aes que so uni camente de negci os
pressupem a honesti dade e a boa f, e mui tas vezes el as pressupem,
seno a generosi dade, pel o menos a ausnci a de bai xeza e esse orgul ho
que todo homem honesto sente em conduzi r-se bem. Al m di sso, uma
grande parte do trabal ho pel o qual os homens ganham a sua vi da, ,
em si mesma, agradvel ; e h verdade na i di a sustentada pel os so-
ci al i stas de que ai nda se pode tornar mai or. Na verdade, mesmo o
prpri o trabal ho comerci al que, pri mei ra vi sta, parece desprovi do de
atrao, d mui tas vezes um grande prazer, oferecendo um objeti vo
ao exerc ci o das facul dades do homem e a seus i nsti ntos de emul ao
e de poder; poi s, assi m como um caval o de corri da ou um atl eta exi gem
tudo de cada um dos seus nervos para exceder seus concorrentes, e
sentem prazer nesse esforo, assi m tambm um i ndustri al ou um co-
merci ante so mui tas vezes esti mul ados mai s pel a esperana de vencer
seus ri vai s do que pel o desejo de juntar al go sua fortuna.
5. Os economi stas tm ti do sempr e o hbi to de consi der ar ,
cui dadosamente, todas as vantagens que atr aem or di nar i amente as
pessoas a uma pr ofi sso, apr esentem-se essas vantagens sob a for ma
pecuni r i a ou no. Outr os fator es sendo i guai s, as pessoas pr efer i r o
ocupaes que no estr aguem as mos, ou que l hes dem uma boa
si tuao soci al , e assi m por di ante. Uma vez que essas sati sfaes
afetam, seno a cada i ndi v duo da mesma manei r a, mas mai or i a
de modo quase i dnti co, sua for a de atr ao pode ser esti mada e
medi da segundo os sal r i os em di nhei r o, aos quai s so consi der adas
equi val entes.
Por outro l ado, o desejo de obter a aprovao e de evi tar a censura
daquel es que vi vem em nosso mei o soci al um est mul o ao, que
opera comumente com uma certa uni formi dade numa dada cl asse de
OS ECONOMISTAS
92
64 De fato, pode-se conceber um mundo onde haja uma ci nci a da Economi a bem pareci da
com a nossa, mas onde no exi sta di nhei ro de espci e al guma.
pessoas, num certo momento e l ugar, ai nda que as condi es de l ugar
e de tempo tenham uma grande i nfl unci a no somente sobre a i n-
tensi dade desse desejo de aprovao, mas tambm sobre o gnero de
pessoas pel as quai s se deseja ser aprovado. Um profi ssi onal ou um
operri o, por exempl o, ser mui to sens vel aprovao ou censura
de seus col egas de of ci o e pouco se preocupar com a apreci ao de
outras pessoas. H um grande nmero de probl emas econmi cos cuja
di scusso permanece fora da real i dade, enquanto no tomarmos a pre-
cauo de observar e de apreci ar com cui dado a di reo e a fora dos
moti vos desse gnero.
Do mesmo modo como pode haver uma nuana de ego smo no
desejo que sente o homem de se tornar ti l a seus companhei ros de
trabal ho, assi m tambm poder haver uma ponta de vai dade pessoal
no seu desejo de ver a fam l i a prosperar enquanto el e vi ver e depoi s
de sua morte. Ai nda assi m as afei es de fam l i a so de ordi nri o uma
forma de al tru smo to pura que sua ao teri a ti do pouca regul ari dade,
no fosse a uni formi dade que exi ste nas prpri as rel aes de fam l i a.
De fato, sua ao perfei tamente regul ar, e os economi stas sempre
consi deram i sso, parti cul armente do ponto de vi sta da di stri bui o do
rendi mento fami l i ar entre os di ferentes membros da fam l i a, das des-
pesas de preparao das cri anas para uma carrei ra futura, e da acu-
mul ao de ri queza desti nada a ser consumi da depoi s da morte daquel e
que a ganhou.
No , por consegui nte, porque no quei ram, mas porque no
podem, que os economi stas no do conta da ao exerci da por moti vos
anl ogos a esse. El es se sentem fel i zes em veri fi car que al gumas das
formas de ao fi l antrpi ca so suscet vei s de serem descri tas com a
ajuda de estat sti cas, e reduzi das, at certo ponto, a l ei s, se tomarem
mdi as sufi ci entemente ampl as. De resto, no h tal vez moti vo to
capri choso e i rregul ar que no se possa, a seu respei to, formul ar al guma
l ei com a ajuda de extensas e paci entes observaes. Seri a poss vel ,
tal vez, desde agora esti mar com sufi ci ente ri gor as contri bui es que
uma popul ao de cem mi l i ngl eses, de ri queza mdi a, dar para sub-
venci onar hospi tai s, i grejas e mi sses; e, na medi da em que i sto possa
ser fei to, h uma base para uma di scusso econmi ca da oferta e da
procura no que concerne aos servi os de enfermei ras de hospi tal , mi s-
si onri os e de outros mi ni stros da rel i gi o. Ser sempre verdade, en-
tretanto, que a mai or parte das aes devi das a um senti mento de
dever e de amor pel o prxi mo no pode ser cl assi fi cada, reduzi da a l ei s
e medi das. por esta razo, e no porque no sejam el as baseadas sobre
o i nteresse pessoal , que a Economi a no pode l hes dar mai or ateno.
6. Os anti gos economi stas i ngl eses tal vez tenham restri ngi do
demasi ado sua ateno aos mvei s da ao i ndi vi dual . A verdade, po-
rm, que o economi sta, como todos aquel es que estudam a Ci nci a
MARSHALL
93
Soci al , tem que se ocupar dos i ndi v duos sobretudo como membros do
organi smo soci al . Do mesmo modo que uma catedral al go mai s que
as pedras de que fei ta, assi m como uma pessoa al go mai s que uma
sri e de pensamentos e senti mentos, assi m tambm a vi da da soci edade
al go mai s que a soma da vi da dos i ndi v duos.
verdade que a ao do todo formada pel a ao das partes
que o consti tuem, e que, na mai ori a dos probl emas econmi cos, o mel hor
ponto de parti da se acha nos moti vos que afetam o i ndi v duo, consi -
derado, por certo, no um tomo i sol ado, mas um membro de deter-
mi nada profi sso ou de al gum grupo i ndustri al . Mas verdade, tam-
bm, como al guns autores al emes bem o fri saram, que o economi sta
deve se preocupar grandemente, e cada vez mai s, com moti vos rel a-
ci onados com a propri edade col eti va de bens e com a consecuo col eti va
de certos fi ns i mportantes. As preocupaes cada vez mai s graves da
nossa poca, o progresso da i ntel i gnci a da massa popul ar, o progresso
do tel grafo, da i mprensa e de outros mei os de comuni cao tendem
a ampl i ar cada vez mai s o campo da ao col eti va i nspi rada pel o bem
pbl i co. Essas transformaes, s quai s preci so acrescentar a di fuso
do movi mento cooperati vi sta, bem como outras formas de associ ao
vol untri a, esto crescendo sob a i nfl unci a de moti vos outros al m
dos de benef ci o pecuni ri o e oferecem, i ncessantemente, ao economi sta,
novas ocasi es de medi r moti vos cuja ao pareci a, at agora, i mposs vel
de reduzi r-se a al guma espci e de l ei .
A di versi dade de moti vos, as di fi cul dades que h de medi -l os e
a manei ra de vencer essas di fi cul dades esto entre os pri nci pai s as-
suntos de que nos ocuparemos neste tratado. Quase todos os pontos
abordados no presente cap tul o necessi taro ser di scuti dos com mai ores
detal hes, quando abordarmos os pri nci pai s probl emas da Economi a.
7. Concl ui ndo provi sori amente: os economi stas estudam as aes
dos i ndi v duos, mas do ponto de vi sta soci al antes que do da vi da
i ndi vi dual ; e, por consegui nte, pouco se preocupam com as parti cul a-
ri dades pessoai s de temperamento e de carter. El es observam cui da-
dosamente a conduta de toda uma cl asse de gente, al gumas vezes o
conjunto de uma nao ou somente aquel es que vi vem numa certa
regi o, mai s freqentemente aquel es que se ocupam com of ci o parti -
cul ar num certo momento e num determi nado l ugar. Com a ajuda da
estat sti ca, ou de outro modo qual quer, el es determi nam qual a quanti a
que os membros do grupo em observao esto, em mdi a, di spostos
a pagar como preo de uma certa coi sa desejada, ou qual a soma que
ser necessri o oferecer-l hes para l ev-l os a suportar um esforo ou
uma absti nnci a penosa. Esse modo de medi r os moti vos no abso-
l utamente exato; se o fosse, a Economi a ocupari a o mesmo l ugar das
ci nci as f si cas mai s avanadas, e no estari a, como real mente est,
entre as ci nci as menos avanadas.
OS ECONOMISTAS
94
Todavi a, essa manei ra de medi r os moti vos sufi ci entemente
exata para permi ti r, a homens experi mentados, a previ so dos resul -
tados que advi ro de transformaes que di zem respei to parti cul ar-
mente a moti vos dessa espci e. Assi m, por exempl o, el es podem esti mar
com mui ta exati do as somas necessri as para susci tar a oferta de
trabal ho, sob a mai s grossei ra ou el evada forma de que preci sa uma
nova i ndstri a que se pretenda estabel ecer num l ugar qual quer. Quan-
do vi si tam uma fbri ca de um gnero que l hes desconheci do podem
di zer, com aproxi mao de um ou doi s xel i ns, quanto ganha por semana
um certo empregado, observando somente qual a di fi cul dade de seu
trabal ho e a fadi ga que l he exi ge de suas facul dades f si cas, mentai s
e morai s. El es podem prever, com uma certeza sufi ci ente, qual a al ta
de preo resul tante de uma dada di mi nui o de oferta de uma certa
coi sa, e at que ponto essa al ta reagi r sobre a oferta.
Parti ndo de consi deraes si mpl es desse gnero, os economi stas
chegam anl i se das causas que governam a di stri bui o l ocal dos
di ferentes gneros de i ndstri a, das condi es em que as pessoas, que
vi vem em l ugares di stantes, trocam os seus bens entre si , e assi m por
di ante. Podem expl i car e prever a i nfl unci a que as fl utuaes de crdi to
tero sobre o comrci o exteri or, ou, ai nda, a extenso em que a carga
de um i mposto ser transferi da daquel es de quem arrecadado para
aquel es cujas necessi dades el es provem, e assi m por di ante.
Em tudo i sso, consi deram o homem tal como el e , no um homem
abstrato ou econmi co, mas um homem de carne e osso, fortemente
i nfl uenci ado por moti vos ego stas em sua vi da profi ssi onal , mas sem
estar ao abri go da vai dade e da di spl i cnci a, nem ser i nsens vel ao
prazer de fazer bem o seu trabal ho como um i deal , ou ao prazer de
sacri fi car-se pel a sua fam l i a, pel os vi zi nhos ou pel o seu pa s, nem
i ncapaz de amar, por i deal , uma vi da vi rtuosa. Consi deram o homem
tal como el e ; mas i nteressando-se sobretudo por esta parte da vi da
humana onde a ao dos moti vos sufi ci entemente regul ar para poder
ser predi ta, e onde o cl cul o das foras motri zes pode ser veri fi cado
pel os resul tados, puderam col ocar a sua obra sobre uma base ci ent fi ca.
Em pri mei ro l ugar, el es se ocupam com fatos que podem ser
observados e com quanti dades que podem ser medi das e regi stradas;
de sorte que, se surgem di ferenas de opi ni o a esse respei to, el as
podem ser confrontadas com os dados consi gnados em regi stros pbl i cos
e bem estabel eci dos. Com i sso obtm a ci nci a uma sl i da base para
trabal har. Em segundo l ugar, os probl emas que so grupados como
econmi cos, pel a razo de que se referem parti cul armente conduta
do homem sob a i nfl unci a de moti vos mensurvei s por um preo em
di nhei ro, formam um grupo bastante homogneo. Natural mente tm
el es, entre si , um grande nmero de pontos em comum; i sso resul ta,
obvi amente, de sua prpri a natureza. Mas o que no evi dente a
priori, sendo, contudo, verdadei ro, que os pri nci pai s dentre el es tm
MARSHALL
95
uma certa uni dade de forma fundamental e, em conseqnci a, estu-
dando-os todos em conjunto, ganhamos a vantagem que se obtm quan-
do se manda um cartei ro entregar todas as cartas de uma certa rua,
em vez de cada pessoa mandar l evar as suas cartas por um mensagei ro
prpri o. Os mtodos de anl i se e de raci oc ni o necessri os para um
certo grupo de probl emas sero geral mente tei s para os demai s grupos.
Assi m, quanto menos nos preocuparmos com di scusses escol s-
ti cas sobre a questo de saber se tal ou qual assunto pertence ao
campo da economi a, mel hor ser. Se o assunto i mportante, estude-
mo-l o da mel hor forma poss vel . Se um assunto sobre o qual exi stem
di vergnci as de opi ni o, em que nos fal tam conheci mentos exatos e
bem estabel eci dos para abord-l o, se um assunto ao qual o mecani smo
do raci oc ni o e da anl i se econmi ca no se apl i ca, dei xemo-l o de l ado
em nossos estudos puramente econmi cos. Mas se assi m agi rmos, que
o seja si mpl esmente porque toda a tentati va para abranger esse ponto
di mi nui r a certeza e a exati do de nossos conheci mentos econmi cos,
sem nenhuma vantagem apreci vel . Lembremo-nos sempre, tambm,
que, de certo modo, podemos consi derar esse assunto com a ajuda de
nossos i nsti ntos morai s e de nosso senso comum, quando a el es recor-
remos como rbi tros supremos para apl i car, no dom ni o das questes
prti cas, os conheci mentos obti dos e el aborados pel a Economi a e pel as
outras ci nci as.
OS ECONOMISTAS
96
CAPTULO III
Generalizaes ou Leis Econmicas
1. tarefa da Economi a, como de quase todas as demai s ci n-
ci as, col i gi r fatos, orden-l os, i nterpret-l os, e del es ti rar concl uses.
A observao e a descri o, a defi ni o e a cl assi fi cao so as ati vi -
dades preparatri as. Mas o que desejamos al canar por seu i ntermdi o
um conheci mento da i nterdependnci a dos fenmenos econmi cos. A
i nduo e a deduo se fazem to necessri as para o pensamento ci en-
t fi co, como os ps di rei to e esquerdo so necessri os para a marcha.
65
Os mtodos exi gi dos para este dupl o trabal ho no so pecul i ares
Economi a so propri edade comum de todas as ci nci as. Todos os
recursos para a descoberta das rel aes de causa e efei to, expostos em
tratados sobre mtodo ci ent fi co, tm de ser uti l i zados oportunamente
pel o economi sta. No h nenhum mtodo de i nvesti gao que possa
ser propri amente denomi nado o mtodo da Economi a. Mas todos os
mtodos l he podem ser tei s no devi do tempo, tanto i sol ados como em
combi nao uns com os outros. E, assi m como o nmero de combi naes
que se podem fazer sobre o tabul ei ro de xadrez to grande que pro-
vavel mente jamai s teri am si do jogadas duas parti das exatamente i guai s
tambm no h duas parti das que o estudi oso venha a di sputar
com a Natureza, a fi m de arrebatar-l he as verdades ocul tas, em que m-
todos i guai s possam ser empregados de manei ra absol utamente i gual .
Mas, em al guns ramos da i nvesti gao econmi ca, e tendo em
mi ra certos objeti vos, mai s urgente apurar novos fatos do que ocu-
parmo-nos com as rel aes mtuas e expl i caes dos que j temos em
mo. No entanto, em outros ramos encontram-se ai nda tai s i ncertezas
quanto a saber se as causas de qual quer aconteci mento que aparecem
superf ci e e l ogo se apresentam pri mei ra vi sta como tai s so tanto
as verdadeiras como as nicas causas do mesmo, que ai nda mai s
97
65 Schmol l er, em arti go sobre Vol kswi rtschaft, no Handwrterbuch de Conrad.
urgentemente necessri o dar tratos ao nosso raci oc ni o sobre os fatos
que j conhecemos do que andar em busca de novos.
Por essa e outras razes, sempre houve e sempre haver tal vez
a necessi dade da exi stnci a, l ado a l ado, de homens de ci nci a com
di ferentes apti des e objeti vos di versos de al guns que se ocupem
sobretudo em apurar os fatos, enquanto outros do ateno mai or
anl i se ci ent fi ca, i sto , decomposi o de fatos compl exos e ao estudo
das rel aes das di versas partes, umas para com as outras, bem como
em rel ao a fatos anl ogos. de se esperar que estas duas escol as
sempre exi stam, cada qual real i zando cabal mente o seu trabal ho, e
aprovei tando o trabal ho da outra. Assi m, podemos obter mel hores ge-
neral i zaes quanto ao passado, e da uma ori entao mai s di gna de
confi ana para o futuro.
2. As ci nci as f si cas que mai s tm progredi do al m dos l i mi tes
a que foram trazi das pel o bri l hante gni o dos gregos, a ri gor, no so
todas ci nci as exatas. Mas todas vi sam exati do, i sto , todas el as
procuram vazar o resul tado de uma mul ti do de observaes em enun-
ci ados provi sri os, sufi ci entemente defi ni dos, a ponto de passar pel a
prova de outras observaes da Natureza. Estes enunci ados, quando
se apresentam pel a pri mei ra vez, mui to raro pretendem uma al ta au-
tori dade. Mas, depoi s de postos prova por mui tas observaes i nde-
pendentes e especi al mente depoi s de terem si do apl i cados com xi to
na previ so de aconteci mentos i mi nentes, ou do resul tado de novas
experi nci as, ganham foros de leis. A ci nci a progri de pel o aumento
do nmero e da exati do das suas l ei s, submetendo-as a provas de
severi dade cada vez mai or, e ampl i ando-l hes o mbi to, at que uma
ni ca l ei , bastante ampl a, contenha e substi tua numerosas l ei s mai s
restri tas, que resul taram ser casos especi ai s daquel a.
At onde i sso se veri fi car numa ci nci a qual quer, um estudi oso
dessa ci nci a pode, em certos casos, decl arar com mai or autori dade do
que a sua prpri a (mai or tal vez do que a de qual quer pensador, por
mai s capaz que seja, que confi e apenas nos seus prpri os recursos,
desprezando os resul tados obti dos por pesqui sadores passados) quai s
os resul tados a se esperar de certas condi es, ou quai s as verdadei ras
causas de certo aconteci mento conheci do.
Conquanto o objeto de al gumas ci nci as f si cas no seja, pel o
menos no presente, suscet vel de medi da perfei tamente exata, o seu
progresso depende da cooperao mul t pl i ce de exrci tos de trabal ha-
dores. Estes medem os fatos e defi nem os enunci ados de tai s ci nci as,
fi rmam as suas proposi es com a acui dade que podem, de modo que
cada i nvesti gador esteja apto a i ni ci ar o seu trabal ho to perto quanto
poss vel do ponto em que o dei xaram os que o antecederam. A Economi a
aspi ra a um l ugar neste grupo de ci nci as: porque, embora as suas
medi das raramente sejam exatas e nunca se apresentem como defi ni -
OS ECONOMISTAS
98
ti vas, est sempre trabal hando no senti do de torn-l as mai s exatas,
e, destarte, para ampl i ar o al cance dos assuntos sobre os quai s o es-
tudi oso, i ndi vi dual mente, possa fal ar com a autori dade da sua ci nci a.
3. Consi deremos, ento, mai s de perto, a natureza das l ei s eco-
nmi cas e as suas l i mi taes. Toda a causa tem uma tendncia a produzir
um resul tado defi ni do se nada ocorre para entrav-l a. Assi m, a gravidade
tende a fazer com que as coisas caiam ao solo: mas, quando um balo
chei o de gs mai s l eve que o ar, a presso do ar h de faz-l o subi r, no
obstante a tendnci a da gravi dade para faz-l o cai r. A l ei da gravi dade
enunci a a manei ra pel a qual duas coi sas se atraem mutuamente; como
tendem a se mover uma na di reo da outra, e como ho de mover-se
uma para a outra, se no houver i nterfernci a capaz de i mpedi -l o. A l ei
da gravi tao , portanto, um enunciado de tendncias.
Trata-se de um enunci ado mui to exato de tal manei ra exato
que os matemti cos podem cal cul ar um Al manaque Nuti co capaz de
mostrar o momento em que cada satl i te de Jpi ter se h de ocul tar
por detrs do prpri o Jpi ter. Fazem este cl cul o com mui tos anos de
antecednci a, os navegadores l evam-no ao mar, empregando-o para
descobri r o ponto em que se encontram. Mas no h tendnci as eco-
nmi cas que atuem to fi rmemente e possam ser medi das com tanta
exati do como a l ei da gravi tao e, por conseqnci a, no h l ei s
de Economi a que se possam comparar com el a em preci so.
Mas consi deremos uma ci nci a menos exata do que a Astronomi a.
A ci nci a das mars expl i ca como a mar sobe e desce, duas vezes por
di a, sob a i nfl unci a do Sol e da Lua; como so fortes as mars na l ua
nova e chei a, e fracas nos quartos mi nguante e crescente; e como a
mar entrando por um canal fechado como o do Severn ser mui to
al ta, e assi m por di ante. Destarte, tendo estudado a posi o da terra
e da gua por toda a vol ta das I l has Bri tni cas, pode-se cal cul ar de
antemo quando a mar estar provavelmente no seu mai s al to ponto
em qual quer di a, na Ponte de Londres ou em Gl oucester, e qual ser
al i a sua al tura. Mas ter-se- de empregar a pal avra provavelmente,
cujo uso di spensvel para os astrnomos ao tratarem dos ecl i pses
dos satl i tes de Jpi ter. Poi s, embora mui tas foras atuem sobre Jpi ter
e os seus satl i tes, cada uma del as atua de manei ra to defi ni da que
pode ser predi ta de antemo. Mas ni ngum sabe o bastante sobre o
tempo a ponto de ser capaz de di zer de antemo como este h de
atuar. Um pesado aguacei ro no curso superi or do Tmi sa, ou um po-
deroso vento de nordeste no Mar do Norte, pode fazer com que as
mars na Ponte de Londres di fi ram grandemente da previ so.
As l ei s da Economi a devem ser comparadas s l ei s das mars
de prefernci a l ei si mpl es e exata da gravi tao. Poi s as aes hu-
manas so to vari adas e i ncertas que o mel hor enunci ado de tendnci as
poss vel de se fazer numa ci nci a da conduta humana tem de ser ne-
MARSHALL
99
cessari amente i nexato e fal ho. Tal vez se pudesse apresentar i sso como
razo sufi ci ente para no se fazerem mai s enunci ados sobre o assunto.
Mas seri a quase abandonar a vi da. E a vi da a conduta humana,
assi m como so os pensamentos e as emoes que se desenvol vem
sua vol ta. Pel os i mpul sos fundamentai s da nossa natureza, todos ns
qual quer que seja o nosso n vel , cul tos ou i ncul tos estamos, em
nossos respecti vos mbi tos de ao, procurando compreender os sen-
ti dos da ao humana, e dar forma aos nossos propsi tos, sejam el es
ego sti cos ou al tru sti cos, nobres ou i gnbei s. E, desde que precisamos
formar para ns al gumas noes das tendnci as da ao humana, a
nossa escol ha se processa entre obter essas noes descui dadamente
ou obt-l as com cui dado. Quanto mai s rdua a tarefa, tanto mai or a
necessi dade de uma fi rme e paci ente i nvesti gao, l evando-se em conta
a experi nci a col hi da pel as ci nci as f si cas mai s avanadas, e estudan-
do-se da mel hor manei ra poss vel esti mati vas bem ponderadas ou l ei s
provi sri as das tendnci as da ao humana.
4. O termo l ei no si gni fi ca ento mai s do que uma proposi o
geral ou mani festao de tendnci as mai s ou menos certas, mai s ou
menos defi ni das. Fazem-se mui tos de tai s enunci ados em todas as ci n-
ci as; porm, na verdade, no podemos dar a todos el es um carter
formal e denomi n-l os de l ei s. Preci samos sel eci onar, e a sel eo se
di ri ge menos por consi deraes puramente ci ent fi cas do que por con-
veni nci a prti ca. Havendo qual quer exposi o geral que se tenha de
trazer bai l a tantas vezes que o i ncmodo de ci t-l a por extenso,
quando necessri o, seja mai or do que o de sobrecarregar a di scusso
com uma nova frmul a e um nome tcni co a mai s, el a recebe ento
um nome especi al . Em caso contrri o, tal no se veri fi ca.
66
Assi m, uma l ei de ci ncia soci al, ou uma Lei Social, um enunciado
de tendnci as soci ai s, i sto , uma i ndi cao de que se pode esperar um
certo curso de ao de membros de um grupo soci al sob certas condi es.
Leis Econmicas, ou postul ados de tendnci as econmi cas, so
l ei s soci ai s que se referem aos ramos da conduta na qual a fora dos
moti vos mai s em jogo pode ser medi da por um preo em di nhei ro.
Assi m, no h uma l i nha di vi sri a forte e di sti nta entre as l ei s
soci ai s que devam ou no ser consi deradas i gual mente l ei s econmi cas.
Poi s h uma gradao cont nua das l ei s soci ai s em que se envol vem
moti vos que podem ser medi dos por preo, para as l ei s soci ai s em que
tai s moti vos pouco tm l ugar e que so, portanto, mui to menos preci sas
OS ECONOMISTAS
100
66 A rel ao entre l ei s naturai s e econmi cas exausti vamente di scuti da por Neumann
(Zeitschrift fr die gesamte Staatswissenschaft. 1892), que concl ui (p. 464) no haver outra
pal avra seno Lei (Gesetz) para expri mi r esses enunci ados de tendnci a, que desempenham
papel to i mportante nas ci nci as naturai s e econmi cas. Ver tambm Wagner (Grundle-
gung. 86 e 91).
e exatas do que as l ei s econmi cas, na mesma rel ao em que estas
se encontram para as ci nci as f si cas mai s exatas.
Correspondendo ao substanti vo l ei h o adjeti vo l egal . Mas o
termo em questo s se apl i ca no senti do de di sposi o governamental e
no com referncia l ei no senti do de enunci ado de rel ao entre causa
e efei to. O adjeti vo empregado nesta acepo deri va-se de norma um
termo quase equi val ente a l ei que tal vez se pudesse apl i car com van-
tagem, em l ugar de l ei , nas di scusses ci ent fi cas. E, segui ndo a nossa
defi ni o de l ei econmi ca, podemos di zer que a reao a se esperar, sob
certas condies, da parte de membros de um grupo i ndustri al , a ao
normal dos membros desse grupo rel ati vamente quelas condi es.
O emprego do termo Normal tem si do mal compreendi do. Pode
ser de bom avi so di zer al guma coi sa quanto uni dade na di versi dade
de acepes que caracteri za os vri os empregos do termo. Quando fa-
l amos de um homem bom ou de um homem forte, referi mo-nos sua
bondade ou sua fora s qual i dades f si cas ou morai s pecul i ares
que foram i ndi cadas no contexto. Um grande jui z raramente tem as
mesmas qual i dades de um grande remador. Um bom jquei nem sempre
tem vi rtudes excepci onai s. Da mesma forma, o emprego do termo nor-
mal i mpl i ca a predomi nnci a de certas tendnci as que se afi guram
ser mai s ou menos fi rmes e persi stentes na sua atuao, sobre outras
rel ati vamente excepci onai s e i ntermi tentes. A doena uma condi o
anormal do homem. Mas uma l onga exi stnci a transcorri da sem ne-
nhuma doena anormal . Durante o degel o, o Reno sobe aci ma do
seu n vel normal , mas, numa pri mavera fri a e seca, quando se encontra
menos do que o usual aci ma desse n vel normal , pode-se di zer que
est anormal mente bai xo (para essa poca do ano). Em todos esses
casos, os resul tados normai s so os que se podem esperar como o des-
fecho dessas tendnci as, ou, em outras pal avras, que esto de acordo com
os enunciados de tendncia, as Lei s ou Normas apropri adas ao caso.
Sob esse ponto de vi sta, di z-se que ao econmi ca normal a
que se pode esperar, a l ongo prazo e sob certas condi es (desde que
sejam persi stentes), da parte dos membros de um grupo profi ssi onal .
normal que os pedrei ros, na mai or parte da I ngl aterra, se di sponham
a trabal har por 10 pence a hora, e se recusem por 7 pence. Em Joha-
nesburgo, pode ser normal que um pedrei ro se recuse a trabal har por
menos de 1 l i bra por di a. O preo normal de ovos frescos de granja
pode ser de 1 pni , quando no h meno poca do ano; todavi a o
preo normal na ci dade, em janei ro, pode ser de 3 pence; e 2 pence
um preo anormal mente bai xo, causado por um cal or temporo.
Outra confuso de que nos devemos resguardar nasce da i di a
de que so normai s apenas os resul tados econmi cos devi dos ao
sem embaraos da l i vre-concorrnci a. Mas o termo tem que ser apl i cado
freqentemente a condi es nas quai s uma concorrnci a compl etamente
l i vre no exi ste, e di fi ci l mente mesmo se pode supor que exi sta; e
MARSHALL
101
mesmo onde a li vre-concorrnci a mais dominante, as condi es normai s
de cada fato ou tendnci a i ncl uem elementos vi tai s que nada tm a ver
com a concorrncia, e nem so afi ns. Assi m, por exempl o, a forma normal
de concl ui r mui tas transaes no comrci o a retalho e a grosso, e nas
Bolsas de Val ores e de Al godo, repousa sobre a convi co de que os con-
tratos verbai s, sem testemunhas, sero honrosamente cumpri dos. Em pa -
ses nos quai s esse pressuposto no pode legi ti mamente admi tir-se, so
i napli cvei s certas partes da teori a oci dental do valor normal . Da mesma
sorte, os preos de vrios ttulos de bolsa so normalmente afetados pel os
senti mentos patri ti cos no s dos compradores ordi nri os, mas tambm
dos prprios corretores, e assi m por di ante.
Fi nal mente, supe-se s vezes que a ao normal na Economi a
a que seja moral mente di rei ta. Assi m deve ser entendi do apenas
quando, no contexto, a ao est sendo jul gada sob o ponto de vi sta
ti co. Quando estamos jul gando as coi sas do mundo como el as so, e
no como deveri am ser, teremos que ol har como normal , de acordo
com as ci rcunstnci as em vi sta, mui ta ao que exi gi ri a um extremo
esforo para ser paral i sada. Por exempl o, a condi o normal de mui tos
habi tantes mai s pobres de uma grande ci dade serem desti tu dos de
i ni ci ati va e sem vontade para aval i arem por si as oportuni dades que
se possam oferecer em qual quer outra parte para uma vi da menos
mi servel . El es no tm a fora f si ca, mental e moral , exi gi da para
fazer carrei ra fora desse c rcul o da mi sri a. A exi stnci a de uma con-
si dervel di sponi bi l i dade de mo-de-obra pronta para fazer cai xas de
fsforo por um preo mui to bai xo normal , da mesma manei ra que a
contoro das extremi dades o resul tado normal de tomar-se estri -
qui ni na. um resul tado, por certo depl orvel , das tendnci as cujas
l ei s temos que estudar. I sto i l ustra uma pecul i ari dade que a Economi a
reparte com poucas outras ci nci as: a natureza do materi al pode ser
modi fi cado pel o esforo humano. A ci nci a pode sugeri r um precei to
moral ou prti co para modi fi car essa natureza, e assi m a ao das l ei s
da Natureza. Por exempl o, a Economi a pode i ndi car mei os prti cos de
substi tui r por trabal hadores capazes os que apenas sabem fazer cai xas
de fsforos; como a fi si ol ogi a pode sugeri r medi das para modi fi car a
raa do gado a fi m de l he dar cresci mento precoce e l ograr mai s carne
sobre l eves ossaturas. As l ei s de fl utuao do crdi to e dos preos
foram mui to al teradas pel as crescentes possi bi l i dades de previ so.
Ademai s, quando so comparados preos normai s com preos
temporri os ou preos de mercado, o termo se refere predomi nnci a
a l ongo prazo de certas tendnci as sob condi es dadas. Mas i sto d
ori gem a al gumas di f cei s questes que dei xaremos para mai s adi ante.
67
5. Di z-se s vezes que as l ei s da Economi a so hi potti cas.
Natural mente, como qual quer outra ci nci a, el a trata de estudar os
OS ECONOMISTAS
102
67 El as so di scuti das no Li vro Qui nto, especi al mente caps. I I I e V.
efei tos que sero produzi dos por certas causas, no de um modo ab-
sol uto, mas sob a condi o de que as outras coisas sejam iguais, e de
que as causas possam produzi r os seus efei tos sem perturbaes. Quase
toda doutri na ci ent fi ca, quando cui dadosa e formal mente estabel eci da,
contm esta cl usul a de que as outras coi sas sejam i guai s: a ao das
causas em questo se supe i sol ada, certos efei tos so atri bu dos a el a,
mas s na hiptese de que no i ntervenha nenhuma outra causa, al m
daquel as expressamente consi deradas. verdade, porm, que a con-
ti ngnci a de se esperar pel o tempo a fi m de que as causas produzam
seus efei tos ori gem de grande di fi cul dade em economi a. Poi s, enquanto
i sso, o materi al sobre o qual el as atuam, e at mesmo as prpri as
causas, podem ter mudado; e as tendnci as que esto sendo descri tas
no ti veram uma marcha l onga sufi ci ente, na qual se exerci tassem
pl enamente. Esta di fi cul dade ocupar nossa ateno mai s tarde.
As cl usul as condi ci onai s i mpl ci tas numa l ei no so conti nua-
mente repeti das, mas o senso comum do l ei tor supre essa omi sso.
Em Economi a necessri o repeti -l as mai s freqentemente, porque suas
doutri nas so, mai s do que as de qual quer outra ci nci a, fcei s de ser
ci tadas por pessoas que no tm i nstruo ci ent fi ca e que tal vez apenas
as tenham ouvi do de segunda mo, i gnorando o seu contexto. Uma
razo pel a qual a conversao ordi nri a mai s si mpl es em forma do
que um tratado ci ent fi co que na conversao podemos i mpunemente
omi ti r cl usul as restri ti vas; porque, se o i nterl ocutor no a supre para
si , ns faci l mente descobri mos o erro e o corri gi mos. Adam Smi th e
mui tos outros dos anti gos autores de economi a consegui ram uma apa-
rente si mpl i ci dade segui ndo os mtodos da conversao e omi ti ndo cl u-
sul as condi ci onai s. Mas i sto fez com que fossem constantemente mal
compreendi dos e l evou a mui ta perda de tempo e estorvo em contro-
vrsi as i ntei s. Essa aparente faci l i dade el es a compraram por um
preo mui to el evado mesmo para essa vantagem.
68
Ai nda que a anl i se econmi ca e o raci oc ni o geral sejam de l arga
apl i cao, contudo cada poca e cada pa s tm seus prpri os probl emas;
e cada mudana nas condi es soci ai s provvel que exi ja novo de-
senvol vi mento das doutri nas econmi cas.
69
MARSHALL
103
68 Ver Li vro Segundo, cap. I .
69 Al gumas partes da Economi a so rel ati vamente abstratas ou puras porque se rel aci onam
pri nci pal mente com l argas proposi es gerai s. Poi s, para que uma proposi o possa ser de
apl i cao ampl a, preci so que contenha poucos detal hes: el a no se pode adaptar a casos
parti cul ares; e se el a se prope a al guma previ so deve ser governada por uma cl usul a
fortemente restri ti va, na qual seja dado um senti do ampl o frase outras coi sas sendo
i guai s.
Outras partes so rel ati vamente aplicadas, porque tratam mai s em detal he de questes
mai s estrei tas; l evam mai s em conta el ementos l ocai s e temporri os; e consi deram as
condi es econmi cas em mai or e mai s estrei ta rel ao com as outras condi es da vi da.
Assi m, h apenas um pequeno passo entre a ci nci a bancri a apl i cada no seu senti do
comum e as grandes regras ou precei tos da arte bancri a em geral , enquanto o passo entre
um probl ema l ocal parti cul ar da ci nci a bancri a apl i cada e a correspondente regra prti ca
ou precei to geral pode ser ai nda menor.
CAPTULO IV
A Ordem e os Objetos dos Estudos Econmicos
1. O economi sta, como vi mos, deve ser vi do de fatos; mas os
fatos, por si mesmos, nada ensi nam. A Hi stri a nos d a conhecer
seqnci as e coi nci dnci as; somente a razo, porm, as pode i nterpretar
e del as reti rar l i es. O trabal ho a fazer to vari ado que mui to del e
deve ser dei xado ao si mpl es senso comum i nstru do pel a experi nci a
que , em l ti ma i nstnci a, o rbi tro de todo o probl ema prti co. A
ci nci a econmi ca no seno a apl i cao do senso comum ajudado
pel os procedi mentos organi zados da anl i se e do raci oc ni o abstrato;
graas a el es, chega-se mai s faci l mente a reuni r, a di spor os fatos
parti cul ares e del es ti rar as conseqnci as. Ai nda que seu al cance seja
sempre l i mi tado, e que sem a ajuda do senso comum o seu trabal ho
seja vo, para os probl emas di f cei s, entretanto, el a permi te ao senso
comum avanar mai s l onge do que seri a poss vel sem el a.
As l ei s econmi cas so enunci ados referentes s tendncias das aes
dos homens sob certas condi es. Essas l ei s no so hi potti cas seno no
mesmo senti do em que o so as l ei s das ci ncias f si cas: poi s que estas
tambm contm ou pressupem certas condi es. , porm, mai s di f ci l
expor cl aramente essas condi es e mui to mai s peri goso dei xar de faz-l o
em Economi a do que em F si ca. As l ei s da ao humana no so, de fato,
to si mpl es, bem defi ni das, nem to cl aramente constatvei s como a l ei
da gravi tao; mas mui tas dentre el as podem equi parar-se s l ei s das
ci ncias naturais que se ocupam de matri as compl exas.
A razo de ser da Economi a como ci nci a di sti nta que el a trata
sobretudo da parte das aes humanas mai s sujei tas a moti vos men-
survei s e que, por consegui nte, se presta mai s que todas as outras a
raci oc ni os e anl i ses si stemti cos. No podemos, na verdade, medi r
moti vos de nenhuma espci e, sejam de natureza nobre ou bai xa, tal
como el es so em si mesmos: medi mos somente a sua fora motri z. O
di nhei ro nunca medi da perfei ta dessa fora, nem mesmo uma medi da
tol eravel mente boa, seno quando tomamos na devi da conta as condi -
105
es gerai s sob os quai s el e age e, especi al mente, a ri queza ou a pobreza
daquel es cuja ao estamos di scuti ndo. Mas, tomadas as devi das pre-
caues, o di nhei ro fornece uma boa medi da da fora motri z de uma
grande parte dos moti vos que atuam na vi da dos homens.
O estudo da teori a deve avanar l ado a l ado com os fatos, e para
tratar os probl emas mai s modernos so os fatos presentes que prestam
o mai or servi o. Os documentos econmi cos do passado di stante so,
sob certos aspectos, i nsufi ci entes e pouco di gnos de f; e as condi es
econmi cas dos tempos anti gos eram compl etamente di ferentes das da
poca moderna da l i vre-empresa, a i nstruo geral , a verdadei ra de-
mocraci a, a energi a a vapor, a i mprensa barata e o tel grafo.
2. A Economi a tem, ento, como objeto, pri mei ramente, adqui ri r
conheci mento para seu prpri o uso e, em segundo l ugar, escl arecer os
aconteci mentos da vi da prti ca. Ai nda que estejamos obri gados, antes
de compreender um estudo, a consi derar cui dadosamente quai s sejam
os seus fi ns, no devemos, entretanto, projetar o nosso trabal ho em
refernci a di reta com essa fi nal i dade. Assi m agi ndo ser amos tentados
a i nterromper a cada i nstante nossas pesqui sas, desde que el as ces-
sassem de ter um al cance i medi ato para o fi m parti cul ar que ti vssemos
em vi sta no momento. A preocupao de fi ns prti cos nos l eva a grupar
fragmentos de toda a sorte de conheci mentos, e que no se escl arecem
uns aos outros. Nossa energi a i ntel ectual se gasta em i r de um a outro;
nada exami nado a fundo e nenhum progresso real se faz.
O mel hor processo para fazer avanar a ci nci a , por consegui nte,
aquel e que grupa num conjunto todos os fatos e raci oc ni os anl ogos
por sua natureza; de sorte que o estudo de cada um dos fatos possa
escl arecer os que l he so vi zi nhos. Assi m trabal hando por l ongo tempo
numa sri e de questes, aproxi mamo-nos pouco a pouco destas uni dades
fundamentai s a que chamamos l ei s naturai s; e assi m o progresso se
faz l enta mas seguramente. Os usos prti cos dos estudos econmi cos
devem, sem dvi da, estar sempre presentes no esp ri to do economi sta,
mas a sua tarefa especi al estudar e i nterpretar os fatos e descobri r
quais so os efei tos de di ferentes causas em sua ao i sol ada e combi nada.
3. Podemos i l ustrar essas i di as enumerando al gumas das pri n-
ci pai s questes que o economi sta estuda. El e pesqui sa:
Quai s so as causas que, parti cul armente no mundo moderno, afe-
tam o consumo e a produo, a di stri buio e a troca de ri quezas; a
organi zao da i ndstri a e do comrci o; o mercado monetri o; a venda
por atacado e a varejo; o comrci o exteri or e as rel aes entre empregadores
e empregados? Como agem e reagem esses fenmenos uns sobre os outros?
Como di ferem os seus resul tados medi atos dos i medi atos?
Dentro de que l i mi tes o preo de uma coi sa uma medi da de
sua desejabi l i dade? Que acrsci mo de bem-estar deve, pri mei ra vi sta,
OS ECONOMISTAS
106
resul tar de um dado aumento de ri queza numa cl asse da soci edade?
Em que medi da a efi ci nci a de uma cl asse enfraqueci da pel a i nsu-
fi ci nci a de suas rendas? Como se sustentari a o aumento da renda de
qual quer cl asse soci al por efei to de um i ncremento proporci onal de sua
efi ci nci a e de seu poder aqui si ti vo?
At onde, de fato, al cana a i nfl unci a da l i berdade econmi ca
em tal poca, em tal l ugar, em tal cl asse soci al ou em tal ramo de
produo? Que outras i nfl unci as so a mai s poderosas e como se
combi nam todas essas i nfl unci as? Em parti cul ar, at que ponto a
l i berdade econmi ca tende, por si mesma, a fazer nascer consrci os e
monopl i os, e quai s so os seus efei tos? Como as di versas cl asses da
soci edade podem, a l ongo prazo, ser afetadas pel a ao da l i berdade
econmi ca; quai s os seus efei tos i ntermedi ri os enquanto no se pro-
duzem os seus efei tos remotos e, l evando em conta a durao de uns
e outros, qual a i mportnci a rel ati va dessas duas categori as de efei tos
i medi atos e fi nai s? Qual ser a inci dnci a de qual quer si stema de i mpostos?
Que nus impor el e comuni dade e que rendas dar ao Estado?
4. Tai s as pri nci pai s questes de que se ocupa di retamente a
Economi a, e com refernci a s quai s deve el a se esforar por col i gi r
fatos, anal i s-l os, e sobre el es basear o seu raci oc ni o. As questes da
vi da prti ca que, mui to embora se encontrem em sua grande parte
fora da esfera da ci nci a econmi ca, consti tuem entretanto, no fundo,
uma moti vao para o trabal ho do economi sta, di ferem de um l ugar
a outro e de uma a outra poca, mai s ai nda que os fatos e condi es
econmi cas que formam o objeto prpri o de seus estudos. Os probl emas
segui ntes parecem ser parti cul armente urgentes, na hora atual , em
nosso pa s.
Como devemos fazer para chegar a aumentar as vantagens e
di mi nui r os i nconveni entes da l i berdade econmi ca, em suas l ti mas
conseqnci as, assi m como no curso de seu progresso? Se aquel es que
sofrem os i nconveni entes da l i berdade no se benefi ci am de suas van-
tagens, at que ponto i sso justi fi cari a modi fi caes nas i nsti tui es da
propri edade, ou l i mi taes da l i vre-empresa, quando el as mesmas ar-
ri scari am di mi nui r o conjunto da ri queza? Em outras pal avras, em
que medi da se deve tender a um aumento de rendas das cl asses pobres
e a uma reduo de seu trabal ho, mesmo se da resul ta uma di mi nui o
da ri queza materi al do pa s? Em que medi da poder amos ati ngi r i sso
sem cometer i njusti a, e sem enfraquecer a energi a dos promotores do
progresso? Como deve ser di stri bu da a i nci dnci a dos i mpostos entre
as di ferentes cl asses da soci edade?
Devemos nos contentar com as formas exi stentes da di vi so de
trabal ho? necessri o que grandes massas humanas se ocupem ex-
cl usi vamente com um trabal ho de carter i nferi or? poss vel educar
gradual mente a grande massa trabal hadora em uma nova capaci dade
MARSHALL
107
para trabal hos de natureza mai s el evada e, parti cul armente, para coo-
perar na admi ni strao das empresas em que est empregada?
Que rel aes devem exi sti r entre a ao i ndi vi dual e a ao co-
l eti va numa fase da ci vi l i zao como essa em que nos achamos? Em
que medi da a associ ao vol untri a sob as suas di versas formas, anti gas
e modernas, pode servi r de i nstrumento ao col eti va nos empreen-
di mentos onde esta l ti ma oferece vantagens especi ai s? Quai s os em-
preendi mentos de que a soci edade deve, el a mesma, se encarregar, por
i ntermdi o do governo central ou l ocal ? Ter amos, por exempl o, l evado
to l onge como dever amos o si stema de propri edade e uso col eti vo de
reas l i vres, de obras de arte, dos mei os de i nstruo e de di verso,
assi m como o desses requi si tos materi ai s necessri os vi da ci vi l i zada
e cuja produo exi ge uma ao col eti va, como o gs, a gua, as estradas
de ferro?
Quando o governo no i ntervm di retamente, at que ponto deve
el e dei xar os i ndi v duos e as companhi as di ri gi rem os seus negci os
como bem entenderem? Em que medi da deve el e regul amentar as es-
tradas de ferro e outras empresas que possuam uma espci e de mo-
nopl i o, bem como o uso do sol o e de outras coi sas cuja quanti dade
no pode ser aumentada pel o homem? Ser necessri o manter em toda
a sua extenso todos os atuai s di rei tos de propri edade; ou tero as
necessi dades que os ori gi naram desapareci do em parte?
Os processos que atual mente preval ecem para o uso das ri quezas
sero i ntei ramente justi fi cvei s? Que papel pode desempenhar a pres-
so moral da opi ni o pbl i ca para constranger e di ri gi r a ao i ndi vi dual
nas rel aes econmi cas, onde a ri gi dez e a brutal i dade da i nterveno
do governo arri scari am prejudi car mai s do que benefi ci ar? Sob que
aspectos di ferem os deveres de uma nao em rel ao outra, em matri a
econmi ca, dos que tm entre si os membros de uma mesma nao?
A Economi a assi m consi derada o estudo dos aspectos e das
condi es econmi cas da vi da pol ti ca, soci al e pri vada do homem, mas
parti cul armente de sua vi da soci al . O objeti vo desse estudo ati ngi r
o conheci mento por amor ao prpri o conheci mento e servi r de gui a na
conduta prti ca da vi da, especi al mente da vi da soci al . A necessi dade
de tal gui a jamai s foi to urgente como no momento presente. As ge-
raes futuras podero di spor de mai s ci o do que ns para as pesqui sas
de pontos obscuros na especul ao abstrata ou na hi stri a dos tempos
passados, mas que no sero de nenhuma ajuda i medi ata para as
nossas di fi cul dades presentes.
Ai nda que seja assi m l argamente i nspi rada por necessi dades pr-
ti cas, a Economi a evi ta tanto quanto poss vel di scuti r as exi gnci as
da organi zao dos parti dos e a tti ca a segui r na pol ti ca i nterna ou
exteri or todas as coi sas que um homem de Estado obri gado a ter
em conta quando, entre as medi das que el e pode propor, deci de quai s
as que o l evaro mai s prxi mo do fi m que pretende ati ngi r para o seu
OS ECONOMISTAS
108
pa s. El a o ajuda, verdade, a determi nar no somente qual deva ser
esse fi m, mas tambm quai s os mel hores processos que uma l arga
pol ti ca deve empregar para ati ngi -l o. Mas abstrai mui tas ci rcunstn-
ci as pol ti cas que o homem prti co no pode i gnorar: el a , portanto,
uma ci nci a ao mesmo tempo pura e apl i cada, mai s do que uma ci nci a
e uma arte. E mel hor, para desi gn-l a, servi r-se da expresso l ata
de Economi a, do que da mai s restri ta Economi a Pol ti ca.
5. O economi sta preci sa das trs grandes facul dades i ntel ectuai s
percepo, i magi nao e razo ; porm, mai s do que tudo, preci sa
de i magi nao que o col oque na pi sta dessas causas de aconteci mentos
vi s vei s, que esto di stantes ou ocul tas, e desses efei tos de causas vi -
s vei s, os quai s se escondem sob a superf ci e.
As ci nci as naturai s e, especi al mente, o grupo das ci nci as f si cas,
tm, como di sci pl i na, essa grande vantagem sobre todos os estudos da
ao humana nel as o pesqui sador chamado a dar concl uses exatas
que podem ser veri fi cadas pel a observao ou experi nci a subseqentes.
Seu erro depressa se mani festa caso el e se sati sfaa com as causas e
os efei tos superfi ci ai s, ou se i gnora a i nterao mtua das foras da
Natureza, na qual todo o movi mento modi fi ca e modi fi cado por tudo
que o cerca. O bom estudante das ci nci as f si cas no se sati sfaz, tam-
pouco, com uma si mpl es anl i se geral : el e est sempre tentando dar-l he
um cunho quanti tati vo e col ocar cada el emento do probl ema na sua
devi da proporo.
Nas ci nci as que se rel aci onam com o homem, a exati do mai s
di f ci l de obter-se. A l i nha de menor resi stnci a , al gumas vezes, o
ni co cami nho aberto, i sto , sempre atraente e, ai nda que tambm
seja trai oei ro, a tentao de segui -l o grande, mesmo quando um
cami nho mai s frutuoso possa ser desbravado pel o trabal ho resol uto.
O estudante da Hi stri a, com esp ri to ci ent fi co, obstacul i zado pel a
i mpossi bi l i dade de experi mentao e, ai nda mai s, pel a ausnci a de
padro objeti vo para aferi o de suas esti mati vas de proporo rel ati va.
Tai s esti mati vas esto l atentes em quase todas as fases de seu raci o-
c ni o: no poder el e concl ui r que uma causa ou grupo de causas foi
sobrepujado por outro, sem fazer uma esti mati va i mpl ci ta de seus
pesos rel ati vos. E, contudo, somente por um grande esforo percebe
el e quanto depende de suas prpri as i mpresses subjeti vas. O econo-
mi sta tambm prejudi cado por essa di fi cul dade, mas em menor grau
que os demai s estudantes da ao do homem, poi s que, de fato, el e
parti l ha das vantagens que do preci so e objeti vi dade obra dos
cul tores das ci nci as f si cas. Enquanto a sua ateno esti ver vol tada
para aconteci mentos recentes e contemporneos, mui tos dos fatos se
grupam em cl asses a respei to das quai s podem ser fei tas afi rmaes
que so defi ni das e, mui tas vezes aproxi madamente, exatas numeri -
camente: com i sso se acha el e numa posi o vantajosa para pesqui sar
MARSHALL
109
causas e resul tados ocul tos sob aspectos exteri ores e que no so per-
cebi dos com faci l i dade, bem como para anal i sar, em seus el ementos,
certas condi es compl exas e reconstrui r um todo, parti ndo de mui tos
de seus el ementos.
Em questes de pequena i mportnci a a si mpl es experi nci a su-
geri r o que no se v. Apontar, por exempl o, o mal que o aux l i o
i nconsi derado ao prdi go representa para a fi rmeza de carter e a vi da
de fam l i a, mesmo quando o que se v exteri ormente seja quase um
puro benef ci o. Mas um esforo mai or, um mai s ampl o al cance de vi sta
e um mai s poderoso exerc ci o de i magi nao so necessri os para ave-
ri guar, por exempl o, os resul tados de mui tos projetos pl aus vei s para
aumentar a estabi l i dade de emprego. Para i sso necessri o ter apren-
di do quo estrei tamente rel aci onadas so as al teraes no crdi to, no
comrci o i nterno, na concorrnci a do comrci o exteri or, nas col hei tas,
nos preos; e como tudo i sso afeta a regul ari dade do emprego num
senti do favorvel ou adverso. necessri o observar como quase todo
o aconteci mento econmi co i mportante numa regi o qual quer do mundo
oci dental repercute sobre o emprego em certas ocupaes l ocal i zadas
em outras partes. Se nos preocuparmos somente com as causas de
desemprego que esto ao al cance das nossas mos, seremos l evados,
provavel mente, a remedi ar mal os mal es que vemos, e a provocar mal es
que no vemos. Mas se procurarmos as causas remotas e as ponde-
rarmos, ento o trabal ho ser uma al ta di sci pl i na para o esp ri to.
Quando, pel a fi xao de uma regul amentao ou por outro mei o
qual quer, os sal ri os so manti dos especi al mente el evados numa ocu-
pao, a i magi nao, posta em ati vi dade, tentar acompanhar a vi da
daquel es que, em vi rtude dessa norma padro, no podem trabal har
em al go de que so capazes por um preo que h mui to quem quei ra
pagar. So esses i ndi v duos benefi ci ados ou prejudi cados? Se al guns
so benefi ci ados e outros prejudi cados, como acontece comumente, sero
aquel es a mai ori a e estes em menor nmero, ou ser o contrri o? Se
consi derarmos os efei tos superfi ci ai s, poderemos supor que a mai ori a
ser a dos benefi ci ados. Se, entretanto, pel o uso raci onal da i magi nao,
concebermos todos os modos em que as proi bi es, baseadas na auto-
ri dade dos si ndi catos trabal hi stas ou em qual quer outra, i mpedem os
i ndi v duos de darem o mel hor de seus esforos e ganharem o mxi mo,
concl ui remos, ento, geral mente, que a mai ori a a dos prejudi cados
e que poucos so os benefi ci ados.
Em parte sob a i nfl unci a i ngl esa, al gumas col ni as austral i anas
esto se l anando em audaci osas aventuras, que prometem mai or con-
forto e descanso i medi ato para os trabal hadores. A Austrl i a tem, de
fato, uma grande reserva de capaci dade de sacar (borrowing power)
sobre seu i menso patri mni o terri tori al : se as medi das propostas re-
sul tarem numa certa recesso i ndustri al , a queda ser al go l i gei ra e
temporri a. Mas j esto advogando i nsi stentemente i dnti ca ori enta-
OS ECONOMISTAS
110
o para a I ngl aterra a recesso, porm, neste caso ser mai s sri a.
O de que necessi tamos, e o que de se esperar que se real i ze num
futuro prxi mo, um estudo mai s ampl o de tai s projetos, efetuados
de forma i dnti ca e com a mesma ordem de i di as apl i cada no jul ga-
mento de um novo desenho de navi o de guerra, tendo em vi sta a sua
estabi l i dade em mau tempo.
Em probl emas como esse, so as qual i dades puramente i ntel ec-
tuai s, e mui tas vezes mesmo o esp ri to de cr ti ca, o de que mai s se
preci sa. Mas os estudos econmi cos exi gem e desenvol vem a facul dade
de empati a, e especi al mente essa rara afi ni dade que permi te aos i n-
di v duos col ocarem-se na si tuao no somente de seus camaradas,
mas tambm dos de outras cl asses soci ai s. Essa si mpati a de cl asse,
por exempl o, fortemente desenvol vi da por i nquri tos, cada vez mai s
necessri os, sobre as i nfl unci as rec procas que o carter e os rendi -
mentos, os mtodos de emprego e os hbi tos de di spndi o exercem uns
sobre os outros; sobre os modos em que a efi ci nci a de uma nao
fortal ece e , por sua vez, fortal eci da pel a confi ana e afei o mtuas
que unem os membros de cada grupo econmi co a fam l i a, empre-
gadores e empregados de um mesmo ramo de negci o, ci dados do
mesmo pa s; sobre os aspectos bons e maus do al tru smo i ndi vi dual e
do ego smo de cl asse i mpl ci tos nas normas si ndi cai s e nos cdi gos
profi ssi onai s, e, fi nal mente, i nquri tos sobre os movi mentos pel os quai s
as nossas crescentes ri quezas e oportuni dades podem ser aprovei tadas
para o bem-estar das geraes presentes e futuras.
70
6. O economi sta necessi ta de i magi nao, pri nci pal mente para
que possa desenvol ver os seus i deai s. Mas, aci ma de tudo, preci sa de
precauo e reserva para que a defesa desses i deai s no ul trapasse a
sua compreenso do futuro.
Quando mui tas outras geraes ti verem passado, tal vez que os
nossos mtodos e i deai s paream pertencer i nfnci a do homem, antes
do que sua maturi dade. Um avano defi ni do, entretanto, j foi fei to.
Aprendemos que todo e qual quer i ndi v duo, at que fi que comprovada
a sua i rremedi vel i ncapaci dade ou bai xeza, di gno de compl eta l i -
berdade econmi ca: no estamos, porm, em condi es de prever, con-
fi antemente, a que fi m esse avano nos l evar. Nos l ti mos tempos
da I dade Mdi a deu-se i n ci o, de uma manei ra mai s ou menos tosca,
ao estudo do organi smo i ndustri al , ti do como se engl obasse toda a
Humani dade. Cada gerao que se segui u tem presenci ado, sucessi va-
mente, mai ores expanses desse organi smo. Nenhuma, porm, teste-
munhou to grande desenvol vi mento como a nossa. A ansi edade com
MARSHALL
111
70 Esse pargrafo reproduzi do de uma memri a apresentada Uni versi dade de Cambri dge,
em 1902, Plea for the Creation of a Curriculum in Economics and Associated of Political
Science, aprovada no ano segui nte.
que tem si do el e estudado cresceu com o seu desenvol vi mento: no h
exempl o, em pocas anteri ores, de esforos to ampl os e vari ados como
os que tm si do fei tos atual mente para compreender esse organi smo.
E o pri nci pal resul tado dos recentes estudos o de fazer-nos reconhecer,
cada vez mai s, mel hor do que o poderi am fazer as passadas geraes,
quo pouco sabemos sobre as causas que mol dam o progresso, e como
reduzi da a nossa previ so do desti no fi nal do organi smo i ndustri al .
Al guns patres e pol ti cos i ntransi gentes, defendendo pri vi l gi os
de cl asse excl usi vos, no comeo do scul o passado, acharam conveni ente
al egar, a seu favor, a autori dade da Economi a Pol ti ca; e, freqente-
mente, chamavam-se a si mesmos de economi stas. Em nossa prpri a
poca esse t tul o tem si do i nvocado pel os oposi tores aos gastos generosos
em benef ci o da educao das massas popul ares, a despei to do fato de
que economi stas contemporneos afi rmam, unni mes, que tai s gastos
consti tuem uma verdadei ra economi a, e que recus-l os seri a, ao mesmo
tempo, um erro e um mau negci o do ponto de vi sta naci onal . Mas
Carl yl e e Ruski n, segui dos por mui tos outros escri tores que no com-
parti l havam de suas bri l hantes e enobrecedoras vi ses poti cas, res-
ponsabi l i zaram sem mai or exame os grandes economi stas por afi rma-
es e atos que real mente no l hes cabi am; e, em conseqnci a, gene-
ral i zou-se uma errnea concepo popul ar de seus pensamentos e de
seu carter.
O fato que quase todos os fundadores da Economi a moderna
foram homens de temperamento genti l e compreensi vo, tocados de Hu-
mani dade. Pouco se i mportavam com ri quezas para si : a sua preocu-
pao era di fundi -l as entre as massas do povo. Opunham-se aos mo-
nopl i os anti -soci ai s, por poderosos que fossem. Atravs de geraes
di versas, apoi aram o movi mento contrri o l egi sl ao de cl asse que
negava s uni es trabal hi stas pri vi l gi os j concedi dos s associ aes
patronai s; esforaram-se para contrabal anar os efei tos mal fi cos que
a anti ga Lei dos Pobres
71
estava tendo sobre os trabal hadores rurai s
e de outras profi sses; apoi aram as l ei s de proteo ao trabal ho nas
fbri cas,
72
a despei to da extrema oposi o de al guns pol ti cos e em-
pregadores que al egavam fal ar em nome desses economi stas. El es eram,
OS ECONOMISTAS
112
71 Poor Laws sri e de l ei s de amparo ofi ci al aos pobres, que remontam na I ngl aterra ao
scul o XVI e que vi goraram at aps a Segunda Guerra Mundi al , quando deram l ugar
moderna l egi sl ao de previ dnci a soci al . A pri nci pal dessas l ei s foi promul gada por i ni-
ci ati va de Edwi n Chadwi ck, cuja doutri na soci al baseava-se no precei to de que o pauperi smo
de pessoas ss um defei to moral e no, comumente, conseqnci a do desemprego i n-
dustri al . Da excl ui r o amparo l egal a essas pessoas vl i das, a no ser nas casas de
trabal ho (workhouses) forado, onde as atrozes condi es ti nham justamente por objeti vo
forar o i nternado ou asi l ado a procurar emprego fora, de qual quer manei ra, onde quer
que fosse. Entretanto, a crescente i nfl unci a das i di as e senti mentos humani tri os no
scul o XI X atenuou os aspectos mai s speros dessa l egi sl ao mas no coi bi u de todo os
efei tos de sua crena dogmti ca nas vi rtudes redentoras do trabal ho rduo, que penal i zava
sobretudo os vel hos e cri anas. (N. dos T.)
72 Sobre essa l egi sl ao, ver nota dos tradutores no Li vro Quarto, cap. V, 5. (N. dos T.)
sem exceo, devotados doutri na de que o bem-estar do povo em
geral deve ser o objeti vo l ti mo de todos os esforos pri vados e de
todos os programas pol ti cos. Eram, entretanto, to corajosos quanto
precavi dos; aparentavam ser fri os, porque no assumi am a responsa-
bi l i dade de advogar avanos rpi dos por veredas ai nda no pal mi l ha-
das, de cuja segurana as ni cas garanti as eram as esperanas con-
fi antes de homens com i magi nao sequi osa, mas no equi l i brada pel o
conheci mento, nem di sci pl i nada pel a rdua refl exo.
Sua prudnci a i a tal vez um pouco al m do necessri o, poi s o
al cance mesmo dos de grande vi so daquel a poca era, sob certos as-
pectos, menor do que o da mai ori a dos homens de cul tura do nosso
tempo, quando, atravs em parte das sugestes do estudo bi ol gi co, a
i nfl unci a das ci rcunstnci as na formao do carter geral mente re-
conheci da como o fato domi nante nas ci nci as soci ai s. Os economi stas,
em conseqnci a, aprenderam agora a consi derar com vi stas mai s am-
pl as e esperanosas as possi bi l i dades do progresso humano. Aprende-
ram a confi ar em que a vontade humana, gui ada pel a refl exo cui da-
dosa, pode modi fi car as ci rcunstnci as a ponto de al terar o carter e,
assi m, real i zar novas condi es de vi da ai nda mai s favorvei s ao carter
e, por consegui nte, ao bem-estar tanto moral quanto econmi co das
massas popul ares. Agora, como sempre, dever del es se oporem a
todos os aodamentos em rel ao a esse grande objeti vo, que enfra-
quecessem os i mpul sos da energi a e da i ni ci ati va.
Os di rei tos de propri edade, como tal , no tm si do venerados por
esses esp ri tos magi strai s que constru ram a ci nci a econmi ca; mas
a autori dade da ci nci a tem si do erradamente i nvocada por al guns dos
que l evaram as exi gnci as dos di rei tos adqui ri dos a usos extremos e
anti -soci ai s. Cabe notar, por consegui nte, que a tendnci a do cui dadoso
estudo econmi co basear os di rei tos da propri edade pri vada no em
al gum pri nc pi o abstrato, mas na observao de que no passado esses
di rei tos tm si do i nseparvei s do progresso; e que, portanto, toca aos
homens responsvei s agi rem cautel osa e experi mental mente na revo-
gao ou mesmo modi fi cao dos di rei tos que podem parecer i napro-
pri ados s condi es i deai s da vi da soci al .
MARSHALL
113
LIVRO SEGUNDO
Algumas Noes Fundamentais
CAPTULO I
Introduo
1. Vi mos que a Economi a , de um l ado, uma Ci nci a da Ri queza
e, de outro, a parte da Ci nci a Soci al da ao do homem em soci edade
que trata dos esforos do homem para sati sfazer suas necessi dades,
at onde esses esforos e essas necessi dades possam ser medi dos em
termos de ri queza, ou de seu equi val ente geral , i sto , em di nhei ro.
Ocupar-nos-emos, na mai or parte deste vol ume, com essas necessi dades
e esses esforos; e com as causas pel as quai s os preos que medem
essas necessi dades so postos em equi l bri o com os preos que medem
os esforos. Neste propsi to, estudaremos no Li vro I I I a ri queza em
rel ao com a di versi dade das necessi dades do homem, s quai s el a
deve sati sfazer; no Li vro I V, a ri queza em rel ao di versi dade dos
esforos humanos pel os quai s el a produzi da.
Mas no presente Li vro temos a i nvesti gar, entre outras coi sas
que resul tam do esforo humano, e so capazes de sati sfazer as ne-
cessi dades do homem, aquel as que podem ser consi deradas Ri queza;
e em que grupos ou cl asses el as devem ser di vi di das. Poi s h um
compacto grupo de termos conexos com Ri queza e com Capi tal , cujo
estudo faz jorrar l uz de uns sobre os outros; enquanto o estudo do
conjunto total uma conti nuao i medi ata, e sob certos aspectos um
compl emento, dessa i nvesti gao sobre a fi nal i dade e os mtodos da
Economi a, na qual preci samente estamos empenhados. Dessa forma,
em vez de comear, como pareceri a mai s natural , pel a anl i se das
necessi dades e da ri queza em rel ao di reta com el as, parece prefer vel
cui dar de i n ci o deste grupo de termos.
Ao faz-l o, teremos natural mente de l evar em certa conta a va-
ri edade das necessi dades e dos esforos. Nada, porm, devemos pres-
supor que no seja bvi o e do conheci mento geral . Mas a di fi cul dade
real da nossa tarefa est noutro senti do e resul ta da necessi dade
que tem a Economi a ni ca entre as ci nci as de operar com um
117
pequeno nmero de termos de uso comum, para expressar um grande
nmero de di sti nes suti s.
2. Como di sse Mi l l :
73
Os fi ns da cl assi fi cao ci ent fi ca so de
mel hor forma ati ngi dos quando os grupos em que so reparti dos os
objetos do l ugar a um mai or nmero de proposi es gerai s, e mai s
i mportantes do que as que decorreri am de outros grupos em que os
mesmos objetos esti vessem di stri bu dos. Mas encontramos de comeo
a di fi cul dade de que as proposi es que numa poca do desenvol vi mento
econmi co so as mai s i mportantes, tornam-se menos i mportantes em
outras pocas, caso sejam de qual quer modo apl i cvei s.
Nessa matri a, os economi stas mui to tm a aprender com as
recentes experi nci as da bi ol ogi a: e o profundo estudo de Darwi n sobre
a questo
74
projeta uma forte l uz sobre as di fi cul dades com que de-
frontamos. El e mostra que os caracteres determi nantes dos hbi tos de
vi da e da posi o geral de cada ser na economi a da Natureza no so
os que projetam mai s l uz sobre a sua ori gem, mas os que projetam
menos. As qual i dades, que um cri ador ou um jardi nei ro aponta como
emi nentemente adequadas para um ani mal ou uma pl anta prosperar
no seu mei o, foram provavel mente desenvol vi das, por essa mesma ra-
zo, em poca rel ati vamente recente. Da mesma manei ra, as propri e-
dades de uma i nsti tui o econmi ca que mai s i mportam no desempenho
da obra que el a tem hoje a cumpri r so, pel a mesma razo, em grande
parte de desenvol vi mento recente.
Encontram-se exempl os nas rel aes entre empregador e empregado,
entre i ntermediri o e produtor, entre banquei ros e suas duas cl asses de
cl i entes, aquel es a quem el es tomam, e aquel es aos quai s el es do em-
prsti mo. A substi tui o da pal avra usura por juro corresponde a uma
mudana geral no carter dos emprsti mos, que trouxe um novo cri tri o
anl i se e cl assi fi cao dos el ementos em que pode ser decomposto o
custo de produo de uma mercadori a. Tambm o esquema geral de di vi so
do trabal ho em qual i fi cado e no qual i fi cado est sofrendo uma alterao
gradual ; o senti do do termo renda est sendo al argado em certas di rees
e estrei tado noutras; e assi m por di ante.
Mas, por outro l ado, devemos sempre ter em mente a hi stri a
dos termos que usamos. Porque, de sa da, esta hi stri a i mportante
por si mesma; e porque el a traz escl areci mentos para a hi stri a do
desenvol vi mento econmi co da soci edade. E ai nda, mesmo que o ni co
propsi to do nosso estudo da Economi a fosse obter conheci mentos que
nos gui assem na obteno dos objeti vos prti cos i medi atos, ns nos
dever amos ci ngi r tanto quanto poss vel ao uso dos termos em harmoni a
com as tradi es do passado; de modo que pudssemos prontamente
OS ECONOMISTAS
118
73 Lgica. Li vro Quarto. Cap. VI I , 2.
74 Origin of Species. Cap. XI V.
perceber as sugestes i ndi retas e as advertnci as suti s e vel adas que
a experi nci a dos nossos antepassados oferece nossa i nstruo.
3. Nossa tarefa di f ci l . Nas ci nci as f si cas, com efei to, sempre
que se observa que um grupo de coi sas tem um certo nmero de pro-
pri edades comuns e tm de ser consi deradas freqentemente em con-
junto, el as so enquadradas numa cl asse com um nome especi al : e
l ogo que surge uma noo nova, um novo termo tcni co i nventado
para represent-l a. Mas a Economi a no pode aventurar-se a segui r
esse exempl o. Seus argumentos devem ser expressos em l i nguagem
i ntel i g vel ao grande pbl i co; el a deve empenhar-se, por consegui nte,
em se conformar com os termos fami l i ares da vi da di ri a, e tanto quanto
poss vel us-l os no si gni fi cado comum.
No uso comum, quase todas as pal avras tm mui tos mati zes de
si gni fi cado, pel o que preci sam ser i nterpretadas conforme o contexto. E,
como Bagehot mostrou, na ci nci a econmi ca, mesmo os autores mai s
formal i stas so compel i dos a proceder assi m, sob pena de no terem pa-
l avras sufi ci entes sua di sposi o. Mas, i nfel i zmente, nem sempre el es
advertem que esto tomando essa l i berdade; por vezes at el es prpri os
di fi ci l mente atentam mesmo para o fato. As defi ni es termi nantes e r -
gi das, com as quai s i ni ci am suas exposies da ci nci a, i nduzem o l ei tor
a uma falsa segurana. No avi sado de que deve a mido procurar no
texto uma i ndi cao i nterpretati va, el e atri bui ao que l um si gni fi cado
di verso do que os autores ti nham em mente; por vezes os cal uni am e os
acusam de di sparate que no se l hes pode i mputar.
75
Al m di sso, a mai ori a das pri nci pai s di sti nes expressas nos
termos econmi cos no so di ferenas de natureza, mas apenas de
grau. pri mei ra vi sta, parecem ser di ferenas de natureza, e ter con-
tornos defi ni dos que podem ser faci l mente i ndi cados; um exame mai s
MARSHALL
119
75 Devemos escrever de prefernci a como fazemos na vi da comum, onde o contexto uma
espci e de cl usul a i nterpretati va i mpl ci ta; apenas, como em Economi a Pol ti ca temos
que fal ar em coi sas mai s di f cei s do que na conversao ordi nri a, devemos prestar mai s
ateno, e fazer mai s advertnci as de qual quer al terao; e mesmo apresentar expressa-
mente a cl usul a i nterpretati va para tal pgi na ou tal di scusso para que no possa haver
erro. Sei que este um trabal ho di f ci l e del i cado; tudo o que posso di zer em defesa deste
mtodo que na prti ca el e mai s seguro do que o processo contrri o, das defi ni es
i nfl ex vei s. Quem quer que experi mente expri mi r i di as di versas sobre coi sas compl exas,
com um vocabul ri o escasso de termos r gi dos, veri fi car que seu esti l o se torna embaraoso
sem ser exato, que obri gado a usar l ongos ci rcunl qui os para concei tos comuns, e que,
depoi s de tudo i sso, no se sai bem, na metade tem que empregar as pal avras nos si gni fi cados
que convm mel hor ao caso em mo, i sto , ora um ora outro, e quase sempre di ferentes
do si gni fi cado fi rme e r gi do que se l hes atri bui . Em tai s di scusses devemos aprender a
vari ar nossas defi ni es medi da em que preci samos, da mesma manei ra como ns di zemos:
suponhamos que x, y e z representam agora i sto, l ogo aqui l o, conforme di ferem os probl emas;
e, embora el es nem sempre o decl arem, este o procedi mento dos autores mai s cl aros e
mai s posi ti vos. (BAGEHOT. Postulates of English Political Economy. p. 78-79.) Tambm
Cai rnes (Logical Method of Political Economy. Li o VI ), combate a i di a de que o carac-
ter sti co bsi co de uma defi ni o deva ser tal que no admi ta gradaes; e argumenta
que comportar graus caracter sti co dos fatos naturai s.
atento, contudo, mostra no haver verdadei ra sol uo de conti nui dade.
um fato notvel que o progresso da Economi a quase no revel a novas
di ferenas reai s de espci e, enquanto vem transformando em di versi dades
de grau aparentes di versi dades de espci e. Encontramos mui tos exempl os
do dano que pode resul tar quando se ensai a traar l i nhas de demarcao
l argas, fi xas e r gi das, e formul ar proposies preci sas a respei to da di -
versi dade de coi sas que a Natureza no separou dessa forma.
4. Devemos ento anal i sar cui dadosamente as caracter sti cas
reai s das vri as coi sas de que temos que nos ocupar; ento constata-
remos geral mente que no uso de cada termo h um certo senti do que,
aci ma de qual quer outro, tem mai ores razes para ser destacado como
o seu pri nci pal senti do, de sorte que, para os objeti vos da ci nci a mo-
derna, i sto representa uma di sti no mui to mai s i mportante do que
qual quer outra em harmoni a com o uso comum. Esse senti do domi nante
pode ser adotado como o si gni fi cado do termo sempre que o contrri o
no seja estabel eci do ou esteja i mpl ci to no texto. Quando for necessri o
usar o termo em qual quer outro senti do, quer mai s l argo, quer mai s
estrei to, a al terao deve ser i ndi cada.
Mesmo entre os mai s escrupul osos pensadores, subsi sti ro sem-
pre di vergnci as de opi ni o sobre os exatos l ugares em que ao menos
certas defi ni es devam ser traadas. Estas questes devem de sa da
ser resol vi das pel o jul gamento das vantagens prti cas das di ferentes
sol ues; mas tai s jul gamentos nem sempre podem ser estabel eci dos
ou refutados por mei o do raci oc ni o ci ent fi co: sempre fi car l ugar para
a di scusso. Mas essa margem de di scusso no pode exi sti r na anl i se
em si : se duas pessoas di ferem a respei to, as duas no podem estar
certas. Podemos esperar que o progresso da ci nci a chegar pouco a
pouco a estabel ecer esta anl i se em base i nexpugnvel .
76
OS ECONOMISTAS
120
76 Quando mi ster restri ngi r o si gni fi cado de um termo (i sto , em l i nguagem l gi ca, di mi nui r
sua extenso pel o aumento de seu contedo), um adjeti vo qual i fi cati vo geral mente bas-
tante, mas a mudana na di reo oposta, em regra, no pode ser fei ta to si mpl esmente.
As di scusses sobre defi ni es tomam freqentemente a segui nte forma: A e B so qual i dades
comuns a um grande nmero de coi sas, mui tas del as tendo em adi o a propri edade C e
ai nda mui tas a qual i dade D, enquanto al gumas tm tanto a C como a D. Podemos sustentar
que em suma prefer vel defi ni r um termo que i ncl ua todas as coi sas que possuam as
qual i dades A e B ou s as que tm as qual i dades A, B, C ou apenas as que apresentam
as qual i dades A, B, D; ou somente as portadoras das propri edades A, B, C, D. A escol ha
destas vri as sol ues deve ser baseada em consi deraes de conveni nci a prti ca, e uma
questo de mui to menor i mportnci a do que o estudo atento das propri edades A, B, C, D,
e de suas rel aes mtuas. Lamentavel mente, porm, este estudo tem ocupado um espao
mui to menor na Economi a i ngl esa do que as controvrsi as sobre defi ni es; estas tm, de
fato, l evado i ndi retamente descoberta da verdade ci ent fi ca, mas sempre ao cabo de
rodei os, e com mui ta perda de tempo e trabal ho.
CAPTULO II
A Riqueza
1. Toda ri queza consi ste em coi sas desejvei s, i sto , em coi sas
que sati sfazem as necessi dades humanas, di reta ou i ndi retamente. Mas
nem todas as coi sas desejvei s so consi deradas ri queza. A afei o de
ami gos, por exempl o, um el emento i mportante de bem-estar, mas
no contada como ri queza, exceto por uma l i cena poti ca. Comecemos
ento por cl assi fi car as coi sas desejvei s, e ento consi derar as que
entre el as devem ser ti das como el ementos de ri queza.
Na fal ta de qual quer termo curto de uso comum que represente
todas as coi sas desejvei s, ou coi sas que sati sfazem necessi dades hu-
manas, podemos usar o termo bens para esse fi m.
Os bens, ou coi sas desejvei s, so materi ai s ou pessoai s e i ma-
teri ai s. Bens materiais compreendem as coi sas materi ai s tei s e todos
os di rei tos de possui r, usar ou extrai r provei tos de coi sas materi ai s,
ou de receb-l as num tempo futuro. Assi m, el es i ncl uem as ddi vas
f si cas da Natureza, terra e gua, ar e cl i ma; os produtos da agri cul tura,
mi nerao, pesca e manufatura; as construes, mqui nas e i nstru-
mentos; hi potecas e outras obri gaes; parti ci paes em empresas p-
bl i cas e pri vadas, todas as espci es de monopl i os, patentes e di rei tos
autorai s; bem como os di rei tos de passagem e outros di rei tos de uso.
Por l ti mo, as oportuni dades de vi ajar, o acesso a bel as pai sagens, aos
museus etc., corpori fi cam faci l i dades materi ai s externas ao homem;
embora a facul dade de apreci -l as seja i ntr nseca e pessoal .
Os Bens imateriais do homem se di spem em duas cl asses. Uma
consi ste em suas qual i dades e facul dades pessoai s para agi r e senti r
prazer como, por exempl o, habi l i dade para negci o, capaci dade profi s-
si onal , ou a facul dade de del ei tar-se com a l ei tura ou a msi ca. Todos
estes pertencem sua natureza nti ma e so chamados internos. Os
da segunda cl asse so chamados de externos, porque consi stem nos
benef ci os que o homem ti ra das outras pessoas. Por exempl o, os tri butos
de trabal ho e servi os pessoai s de toda a sorte que as cl asses domi nantes
121
costumavam exi gi r de seus servos e outros dependentes. Mas estes j
fi caram no passado; e os pri nci pai s casos de tai s rel aes benfi cas
para seus ti tul ares nos di as de hoje so encontrados na boa vontade
e nas rel aes comerci ai s de negoci antes e profi ssi onai s.
77
Outrossi m, os bens podem ser transferveis ou intransferveis. En-
tre os l ti mos se i ncl uem as qual i dades e facul dades de uma pessoa
para a ao e o prazer (i sto , seus bens i ntr nsecos); mesmo certa
parte das suas rel aes de negci o que dependem da confi ana que
nel e deposi tem e no pode ser transferi da com a sua cl i entel a; tambm
as vantagens de cl i ma, l uz, ar, e os seus pri vi l gi os de ci dadani a e os
di rei tos e faci l i dades de fazer uso da propri edade pbl i ca.
78
Os bens so livres quando no apropri ados e forneci dos pel a Na-
tureza sem esforo do homem. A terra no seu estado ori gi nal um
bem l i vre do ponto de vi sta do i ndi v duo. A madei ra ai nda l i vre em
certas fl orestas do Brasi l . O pei xe do mar geral mente l i vre: mas
certas zonas de pesca mar ti ma so ci osamente guardadas para o uso
excl usi vo dos membros de uma certa nao, e podem ser cl assi fi cadas
como propri edade naci onal . As ostrei ras que tm si do cul ti vadas arti -
fi ci al mente no so absol utamente l i vres; as que se formaram natu-
ral mente so l i vres em todos os senti dos se ai nda no foram apropri a-
das; se el as se tornam propri edade pri vada so, entretanto, bens l i vres
do ponto de vi sta da nao. Mas, desde que a nao abandonou seus
di rei tos sobre el as para os parti cul ares, el as no so l i vres do ponto
de vi sta i ndi vi dual ; e o mesmo acontece com os di rei tos pri vados de
pesca nos ri os. Mas o tri go cul ti vado no terreno l i vre e o pei xe pescado
em pesquei ros l i vres no so l i vres, poi s foram adqui ri dos pel o trabal ho.
2. Podemos agora passar questo de saber quai s so, entre
os bens pertencentes a um homem, os que se l evam em conta como
parte de sua ri queza. Sobre a questo veri fi cam-se di vergnci as de
opi ni o, mas a mai ori a dos argumentos como o das autori dades parece
pender cl aramente para a segui nte resposta:
Quando se fal a da riqueza de um homem, si mpl esmente, e sem
que haja nenhuma cl usul a i nterpretati va no contexto, devemos en-
tend-l a como sendo o seu patri mni o em duas cl asses de bens.
Na pri mei ra cl asse esto os bens materi ai s sobre os quai s el e
tem (por l ei ou costume) di rei tos de propri edade pri vada, e que so
por consegui nte transfer vei s e permutvei s. El es i ncl uem, devemos
l embrar, no s coi sas como o sol o, as casas, mvei s e maqui nari a, e
OS ECONOMISTAS
122
77 Porque, nas pal avras em que Hermann comea sua magi stral anl i se da ri queza: Certos
bens so internos, outros externos ao i ndi v duo. Um bem i nterno o que el e encontra em
si mesmo, conforme a sua natureza, ou o que el e educa em si por sua prpri a ao l i vre,
como a fora muscul ar, a sade, as suas aqui si es i ntel ectuai s. Tudo o que o mundo
exteri or oferece sati sfao das suas necessi dades para el e um bem externo.
78 A cl assi fi cao aci ma pode ser expressa assi m:
outras coi sas materi ai s que podem estar em sua propri edade pri vati va,
mas tambm quai squer aes de companhi as, debntures, hi potecas e
outras obri gaes de que pode ser ti tul ar permi ti ndo-l he exi gi r que
outras pessoas l he dem di nhei ro ou bens. De outro l ado, os dbi tos
que tem para com outros podem ser consi derados ri queza negati va, e
devem ser subtra dos do total bruto das suas posses para apurar a
sua verdadei ra ri queza l qui da.
Os servi os e outros bens, cuja exi stnci a cessa no momento mes-
mo em que se i ni ci ou, no so, natural mente, parte dessa ri queza.
79
Na segunda cl asse esto os bens i materi ai s que l he pertencem,
os que l he so externos, e servem di retamente de mei o para habi l i t-l o
a adqui ri r bens materi ai s. Assi m, fi cam excl u das todas as qual i dades
e facul dades pessoai s, mesmo as que o capaci tam para ganhar a vi da,
porque el as so i nternas. E excl ui suas ami zades pessoai s, at o ponto
em que no tenham um i nteresse di reto para o negci o. Mas i ncl ui
suas rel aes comerci ai s e profi ssi onai s, a organi zao do seu negci o,
e onde tai s coi sas exi stem a propri edade de escravos, os di rei tos
de tri butos de trabal ho etc.
Esse uso do termo Ri queza est conforme o uso da vi da comum e,
ao mesmo tempo, compreende os bens que cl aramente se enquadram no
objeti vo da cinci a econmi ca, tal como foi defi ni do no Li vro I , e somente
el es, que podem ser por i sto chamados bens econmicos. Poi s a se i ncl uem
todas as coi sas extr nsecas ao homem, que (a) l he pertencem, e no per-
tencem i gual mente aos seus vi zi nhos, e poi s so ni ti damente suas; e (b)
so di retamente capazes de medi da em di nhei ro medi da que de um
l ado representa os esforos e sacri f ci os pel os quai s el as vi eram exi stncia
e, por outro l ado, as necessi dades que sati sfazem.
80
3. Uma noo mai s l arga de ri queza pode certamente ser tomada
para certos fi ns, mas neste caso se deve recorrer a uma nota i nter-
pretati va especi al , para preveni r confuso. Assi m, por exempl o, a ha-
bi l i dade de um carpi ntei ro tanto um mei o di reto de capaci t-l o para
sati sfazer necessi dades de outrem, e i ndi retamente suas prpri as, como
so as ferramentas de seu of ci o; e tal vez possa ser vantajoso di spor
MARSHALL
123
79 A parte do val or de uma cota em soci edade mercanti l devi da reputao pessoal e s
rel aes dos que conduzem o negci o deve caber, propri amente, na categori a segui nte, como
bens externos pessoai s. Mas este ponto no tem mui ta i mportnci a prti ca.
80 I sso no i mpl i ca que o dono de bens transfer vei s, se os transferi u, possa sempre sacar
todo o val or em di nhei ro que el es tm para si . Uma roupa bem tal hada, por exempl o, pode
val er o preo que por el a pede o al fai ate el egante a seu cl i ente, porque este preci sa del a
e no a pode obter por menos; mas este no a consegui r vender pel a metade do preo. O
fi nanci sta bem-sucedi do que gastou 50 mi l l i bras para ter uma casa e jardi ns segundo o seu
capri cho, sob um ponto de vi sta est certo em l ev-l os em conta no i nventri o dos seus pertences,
ao preo de custo; mas, se el e vi er a quebrar, tai s bens no representaro para os credores
um ati vo de val or i gual . Da mesma forma, de certo ponto de vi sta, podemos consi derar a
cl i entel a do advogado ou do mdi co, do comerci ante ou do i ndustri al , equi val ente renda total
que el e perderi a se del a fi casse pri vado, embora reconheamos que o seu val or de troca, i sto
, o val or que l he poderi a ser atri bu do se fosse vendi da seja mui to menor do que esse.
de uma expresso que abranja essa habi l i dade como parte de sua ri -
queza no senti do ampl o. Cami nhando na tri l ha i ndi cada por Adam
Smi th,
81
e segui da pel a mai or parte dos economi stas do Conti nente,
podemos defi ni r a riqueza pessoal de modo a abranger todas essas
energi as, facul dades e hbi tos que di retamente contri buem para tornar
as pessoas efi ci entes i ndustri al mente, junto com essas rel aes e as-
soci aes de qual quer espci e que j reconhecemos como parte da ri -
queza no senti do mai s estri to do termo. As qual i dades profi ssi onai s
apresentam ai nda um outro moti vo para serem consi deradas econmi -
cas, porque em regra o seu val or pass vel de certa medi da i ndi reta.
82
Saber se val e a pena consi der-l as como ri queza, questo me-
ramente de conveni nci a, embora se di scuta mui to, como se fosse uma
questo de pri nc pi o.
Pode causar confuso o uso to s do termo ri queza, quando
desejamos i ncl ui r as apti des i ndustri ai s de uma pessoa. Ri queza
si mpl esmente dever sempre si gni fi car s as ri quezas externas. Mas
pequeno i nconveni ente h, e parece apresentar al guma vantagem, no
uso ocasi onal da expresso ri queza materi al e pessoal .
4. Temos ai nda que l evar em conta aquel es bens materi ai s que
se possuem em comum com os vi zi nhos, e que i nti l menci onar quando
se compara a ri queza prpri a com a del es; embora sejam i mportantes
sob certos aspectos, e especi al mente para as comparaes entre as
condi es econmi cas de l ugares di stantes e tempos di versos.
Esses bens consi stem nos benef ci os que se ti ram da vi da em
certo l ugar e em determi nada poca, sendo membro de um certo Estado
ou comuni dade; i ncl uem a segurana ci vi l e mi l i tar e o di rei to e opor-
tuni dade de fazer uso dos bens do dom ni o pbl i co e das i nsti tui es
de toda ordem, como das estradas, i l umi nao pbl i ca etc., assi m como
o di rei to justi a e ao ensi no gratui to. O homem da ci dade e o do
campo tm cada um del es, gratui tamente, mui tas vantagens que o
outro no pode obter i ntei ramente, ou poder obter apenas com grande
despesa. Sendo as outras condi es i guai s, uma pessoa tem mai or ri -
queza real do que outra, no mai s l argo senti do da pal avra, se o l ugar
em que vi ve tem mel hor cl i ma, mel hores estradas, gua mel hor, um
si stema de esgotos mai s compl eto, e ai nda jornai s, l i vros e l ocai s de
recrei o e de i nstruo mel hores. Habi tao, comi da e roupa que seri am
i nsufi ci entes num cl i ma fri o, podem ser abundantes num cl i ma quente;
por outro l ado, o cal or que di mi nui as necessi dades f si cas dos homens
OS ECONOMISTAS
124
81 Ver Wealth of Nations. Li vro Segundo. Cap. I I .
82 "Os corpos dos homens, sem dvi da, so o mai s val i oso tesouro sobre a terra", di sse Davenant
no scul o XVI I ; frases si mi l ares se tornaram correntes sempre que a marcha dos aconte-
ci mentos l evou os homens a se preocupar com o cresci mento da popul ao.
e os faz ri cos apenas com uma pequena provi so de ri queza materi al ,
f-l os pobres da energi a que consegue a ri queza.
Mui tas dessas coi sas so bens coletivos, i sto , bens que no so
de propri edade pri vada. E i sso nos l eva a consi derar a ri queza do
ponto de vi sta soci al , em contraposi o ao ponto de vi sta i ndi vi dual .
5. Consi deremos ento esses el ementos da ri queza de uma nao
que comumente so ignorados quando se calcula a ri queza dos indi v duos
que a compem. As formas mai s evi dentes dessa ri queza so as propri e-
dades pbl i cas materi ai s de todo o gnero, tai s como estradas e canai s,
edi f ci os e parques, gasmetros e i nstal aes hi drul i cas; embora, l amen-
tavel mente, mui tos desses bens no tenham si do adqui ri dos com poupan-
as pbl i cas, mas pel os emprsti mos pbl i cos, e a temos a pesada ri queza
negati va de uma grande d vi da a ser bal anceada contra el es.
O Tmi sa, porm, tem contri bu do mai s para a ri queza da I n-
gl aterra do que todos os seus canai s, e tal vez at todas as suas estradas.
E, embora o Tmi sa seja um dom gratui to da Natureza (sal vo na medi da
em que tem si do mel horada a sua navegao), enquanto os canai s so
obra do homem, devemos, por mui tas razes, reconhecer o Tmi sa
como parte da ri queza da I ngl aterra.
Os economi stas al emes freqentemente i nsi stem nos el ementos
i materi ai s da ri queza naci onal ; e i sto est certo para determi nados pro-
bl emas rel ati vos ri queza naci onal , mas no para todos. As descobertas
ci ent fi cas, de fato, onde quer que tenham si do fei tas, se tornam propri e-
dade de todo o mundo ci vi l i zado, e podemos consi der-l as uma ri queza
cosmopol i ta, mai s do que uma ri queza parti cul armente naci onal . O mesmo
verdadeiro quanto s i nvenes mecni cas e a mui tos outros progressos
nas artes da produo; e i gual mente quanto msi ca. Mas aquel es gneros
l i terri os que perdem a fora pela traduo podem ser consi derados, num
senti do especi al , ri queza das naes em cuja l ngua foram escritos. E a
organi zao de um Estado l i vre e bem ordenado deve ser consi derada um
i mportante el emento da ri queza naci onal .
A ri queza naci onal , porm, i ncl ui tanto o patri mni o i ndi vi dual
quanto o patri mni o col eti vo dos seus membros. E ao esti mar o mon-
tante da ri queza i ndi vi dual , podemos si mpl i fi car omi ti ndo todos os d-
bi tos e outras obri gaes entre os membros de uma nao. Por exempl o,
na medi da em que a d vi da naci onal da I ngl aterra e as obri gaes de
uma estrada de ferro i ngl esa esto em mos de naci onai s, podemos
adotar o mtodo si mpl es de consi derar apenas a ferrovi a em si como
parte da ri queza naci onal , abandonando os t tul os da estrada e da
d vi da pbl i ca. Temos, todavi a, que deduzi r os t tul os emi ti dos pel o
governo e por parti cul ares i ngl eses, possu dos por estrangei ros, e adi -
ci onar os t tul os estrangei ros de que os i ngl eses so detentores.
83
MARSHALL
125
83 O val or de uma empresa pode ser devi do, at certo ponto, ao fato de di spor de um monopl i o;
seja um monopl i o total , assegurado por uma patente, ou um monopl i o parci al resul tante de
A ri queza cosmopol i ta di fere tanto da ri queza naci onal quanto
esta di fere da i ndi vi dual . Cal cul ando-a, devem ser omi ti dos os dbi tos
dos membros de uma nao para os de outra nas duas col unas da
conta. Outrossi m, tal como os ri os so el ementos i mportantes da ri queza
naci onal , o oceano uma das mai s val i osas propri edades do mundo.
A noo de ri queza cosmopol i ta , na verdade, nada mai s do que a de
ri queza naci onal abrangendo a rea i ntei ra do Gl obo.
Os di rei tos i ndi vi duai s e naci onai s ri queza repousam sobre o
di rei to ci vi l e o di rei to i nternaci onal ou, pel o menos, sobre o costume
que tem fora de l ei . Uma exausti va i nvesti gao das condi es eco-
nmi cas de qual quer tempo ou l ugar exi ge, por conseqnci a, um estudo
da l ei e do costume; e a Economi a deve mui to aos que trabal haram
neste senti do. Mas suas frontei ras j so mui to vastas; e as bases
hi stri cas e jur di cas das concepes de propri edade so extensas ma-
tri as que podem ser di scuti das mel hor em tratados di sti ntos.
6. A noo de Valor est i nti mamente rel aci onada com a de
Ri queza; e pouco pode ser di to sobre i sto aqui . A pal avra Valor, di z
Adam Smi th, tem doi s di ferentes si gni fi cados: al gumas vezes expressa
a uti l i dade de certo objeto em parti cul ar, e outras, o poder de adqui ri r
outras coi sas que a posse de tal objeto representa. Mas a experi nci a
tem mostrado que no bom o uso da pal avra no pri mei ro senti do.
O val or, i sto , o val or de troca de uma coi sa em termos de outra
OS ECONOMISTAS
126
que as suas mercadori as sejam mai s conheci das do que outras da mesma qual i dade: na
medi da em que assi m acontece, essa empresa nada acrescenta ri queza real da nao.
Se o monopl i o quebrado, a di mi nui o da ri queza naci onal devi da ao desapareci mento
do seu val or mai s do que compensada, geral mente, em parte pel o aumento de val or dos
negci os concorrentes, e em parte pel o cresci mento do poder aqui si ti vo da moeda, repre-
sentando a ri queza de outros membros da col eti vi dade. (Deve-se ai nda acrescentar que,
em certos casos excepci onai s, o preo de uma mercadori a pode ser reduzi do em conseqnci a
da sua produo monopol i zada: mas estes casos so mui to raros, e podem ser abandonados
no momento.)
Ai nda mai s, as rel aes de negci os e as reputaes comerci ai s no acrescentam a ri queza
naci onal , a no ser no l i mi te em que el as pem os compradores em rel ao com aquel es
produtores que sati sfaro as suas necessi dades reai s mai s ampl amente por um preo dado;
ou, em outras pal avras, s na medi da em que el as concorrem para ser mel hor atendi do,
pel os esforos de toda a col eti vi dade, o conjunto das necessi dades da col eti vi dade. No
obstante, quando queremos esti mar a ri queza naci onal , no di reta, mas i ndi retamente,
como o agregado da ri queza i ndi vi dual , devemos atri bui r a todas as empresas o seu val or
bruto, ai nda mesmo que el e consi sta em parte em monopl i o que no usado em benef ci o
geral . Poi s o mal que el es fazem aos produtores concorrentes l evado em conta quando
computamos o val or das empresas desses ri vai s; e o mal fei to aos consumi dores pel a el evao
do preo do produto que el es compram consi derado na apurao do poder aqui si ti vo de
seus mei os, no que se refere mercadori a em vi sta.
Um caso especi al di sso o da organi zao do crdi to. El e aumenta a efi ci nci a da produo
no pa s, e poi s acrescenta ri queza naci onal . E o poder de l evantar crdi to um val i oso
el emento no ati vo de um comerci ante. Se, contudo, al guma causa fortui ta o afasta do negci o,
o preju zo sofri do pel a ri queza naci onal um tanto i nferi or ao i ntei ro val or do di to ati vo;
porque uma parte ao menos dos negci os que el e teri a fei to ser fei ta agora por outros, com
a ajuda de uma parte ao menos do capi tal que el e teri a tomado de emprsti mo.
H di fi cul dades semel hantes em saber at que ponto se deve tomar o di nhei ro como parte
da ri queza naci onal ; mas tratar del as a fundo nos exi gi ri a anteci par uma boa parte da
teori a da moeda.
num l ugar e tempo qual quer, a quanti dade da segunda coi sa que
pode ser obti da al i e na ocasi o dada, em troca da pri mei ra. Assi m, o
termo val or rel ati vo e expri me a rel ao entre duas coi sas num l ugar
e tempo determi nados.
Os pa ses ci vi l i zados geral mente adotam o ouro ou a prata, ou
ambos, como di nhei ro. Em vez de expri mi r os val ores do chumbo e do
estanho, da madei ra, do tri go e outras coi sas uns em rel ao aos outros,
ns os expri mi mos em pri mei ro l ugar em di nhei ro; e chamamos o val or
de cada coi sa assi m expresso: seu preo. Se sabemos que uma tonel ada
de chumbo ser trocada por qui nze soberanos em al gum l ugar e tempo,
enquanto uma tonel ada de estanho se trocar por noventa soberanos,
di zemos que os seus preos al i , ento, so respecti vamente de 15 e 90
l i bras, e veri fi camos que o val or da tonel ada de estanho em termos
de chumbo de sei s tonel adas na ocasi o e l ocal dados.
O preo de cada coi sa sobe e desce de tempo a tempo e de l ugar a
l ugar; e cada mudana determina a alterao proporci onal no poder aqui -
si ti vo da moeda. Se o poder aqui si ti vo da moeda sobe de referncia a
certas coi sas, e ao mesmo tempo cai de refernci a a coi sas i gual mente
i mportantes, seu poder aqui si ti vo geral (ou seu poder de adqui ri r coi sas
em geral ) permaneceu estaci onri o. Esta frase encobre certas di fi cul dades
que estudaremos mai s tarde. Mas enquanto i sto, podemos tom-l a no seu
senti do popul ar, que sufi ci entemente cl aro; e podemos atravs deste
vol ume dei xar de l ado as poss vei s mudanas no poder aqui si ti vo geral
da moeda. Assi m, o preo de qual quer coi sa ser tomado como represen-
tati vo do seu val or de troca rel ati vamente s coi sas em geral ou, em
outras pal avras, como representati vo do seu poder aqui si ti vo geral .
84
Mas se as i nvenes tm aumentado mui to o poder do homem
sobre a Natureza, ento o val or real do di nhei ro mel hor aferi do, para
certos propsi tos, em trabal ho do que em mercadori a. Esta di fi cul dade,
contudo, no afetar mui to nosso estudo neste tratado, que apenas
sobre os Fundamentos da Economi a.
MARSHALL
127
84 Como Cournot ressal ta (Principes Mathmatiques de la Thorie des Richesses. Cap. I I ),
temos a mesma conveni nci a em pressupor a exi stnci a de um padro de poder aqui si ti vo
uni forme pel o qual medi r o val or, que os astrnomos em fi gurar que h um Sol mdi o
que cruza o meri di ano em i nterval os uni formes, de tal sorte que se possa acertar o rel gi o
por el e, embora o Sol , no seu percurso real , atravesse o meri di ano ora antes ora depoi s
do mei o-di a do rel gi o.
CAPTULO III
Produo Consumo Trabalho
Artigos de Primeira Necessidade (Necessari es)
1. O homem no pode cri ar coi sas materi ai s. No mundo mental
e moral , sem dvi da, capaz de produzi r novas i di as. Mas quando
se di z que produz coi sas materi ai s, na real i dade trata-se apenas da
produo de uti l i dades ou, em outras pal avras, os esforos e sacri -
f ci os do homem resul tam em mudana de forma ou arranjo da matri a,
a fi m de mel hor adapt-l a sati sfao das suas necessi dades. Tudo o
que el e pode fazer no mundo f si co : ou reajustar a matri a, a fi m
de torn-l a mai s ti l , como no caso de transformar uma tora de madei ra
numa mesa, ou di spor da mesma de modo a torn-l a mai s ti l pel a
prpri a Natureza, como no caso da semente l anada ao sol o, onde as
foras da Natureza ho de faz-l a germi nar.
85
Di z-se, s vezes, que os comerci antes no produzem; que enquanto
o marcenei ro faz a mob l i a, o negoci ante de mvei s vende apenas o
produto j el aborado. Mas no h fundamento ci ent fi co para tal di s-
ti no. Ambos produzem uti l i dades, e nenhum del es pode fazer mai s:
o negoci ante de mvei s movi menta e d novo desti no matri a, a fi m
de dar-l he mai or serventi a do que antes, e o carpi ntei ro no faz mai s
nada. O mari nhei ro ou o ferrovi ri o que transportam o carvo fora da
mi na, produzem-no tanto como o mi nei ro que o reti ra da gal eri a; o
pei xei ro ajuda a transferi r o pei xe de onde rel ati vamente de pouca
uti l i dade para onde possa ter mai or emprego, e o pescador nada mai s
faz. bem verdade que s vezes h mai s comerci antes que o necessri o,
e, quando i sso ocorre, h sempre desperd ci o. Mas h tambm desper-
d ci o onde houver doi s homens num arado que pode ser manejado por
um ni co. Em ambos os casos, todos os que esto trabal hando produzem,
129
85 Bacon (Novum Organon. I V) di z: Ad opera ni l al i ud potest homo quam ut corpora natural i a
admoveat et amoveat, rel i qua natura i ntus agi t (ci t. por BONAR. Philosophy and Political
Economy. p. 249).
embora tal vez em pequena escal a. Al guns autores tm revi vi do o ataque
medi eval ao comrci o, sob o fundamento de que o mesmo no produz.
Todavi a, no tm mi rado no al vo certo deveri am ter atacado sobre-
tudo a i mperfei ta organi zao do comrci o, parti cul armente a do co-
mrci o de varejo.
86
O Consumo pode ser consi derado produo negati va. Assi m como
o homem pode produzi r apenas uti l i dades, nada mai s l he dado con-
sumi r. Pode produzi r servi os e outros produtos i materi ai s, e pode
consumi -l os. E, da mesma forma que a sua produo de coi sas materi ai s
nada mai s do que um novo arranjo da matri a, emprestando-l hes
outras uti l i dades, o seu consumo das mesmas no seno uma desa-
gregao da matri a, que l he di mi nui ou destri as uti l i dades. Al i s,
quando se di z mui tas vezes que o homem consome as coi sas, el e nada
mai s faz do que ret-l as para seu uso, enquanto, conforme di z Seni or,
estas so destru das pel os numerosos agentes graduai s que, em con-
junto, denomi namos tempo.
87
Assi m como o produtor de tri go o
que l ana a semente onde a Natureza a far germi nar, o consumi dor
de quadros, corti nas e mesmo de uma casa ou de um i ate pouco faz
no senti do de promover o desgaste de tai s coi sas: uti l i za-se del as en-
quanto o tempo as destri .
Outra di sti no a que se tem dado al guma preemi nnci a, mas
vaga e de uso tal vez no mui to prti co, entre bens de consumidores
(tambm chamados bens de consumo ou ai nda bens de primeira ordem),
tai s como al i mento, roupas etc., que sati sfazem as necessi dades dire-
tamente; e, de outro l ado, os bens produtores (tambm denomi nados
bens de produo ou instrumentais ou ai nda bens intermedirios) como
arados, teares e al godo em rama, que sati sfazem as necessi dades i ndi -
retamente, contri bui ndo para a produo da pri mei ra cl asse de bens.
88
2. Todo trabal ho se di ri ge no senti do de produzi r al gum efei to.
Poi s, embora al guns esforos sejam envi dados com fi nal i dade em si
mesmos, como no caso de um esporte prati cado como recreao, el es
no so consi derados trabal ho. poss vel defi ni r trabalho como qual -
quer esforo da mente ou do corpo, condi ci onado, em parte ou no todo,
a al gum benef ci o di sti nto do prazer que del e prpri o possa se ori gi nar
OS ECONOMISTAS
130
86 A produo, em senti do restri to, muda a forma e a natureza dos produtos. O comrci o e
o transporte modi fi cam suas rel aes externas.
87 Political Economy. p. 54. Seni or gostari a de substi tui r o verbo consumir pel o verbo usar.
88 Assi m, a fari nha a ser transformada num bol o, quando j em casa do consumi dor, con-
si derada por al guns um bem de consumo, enquanto no s a fari nha, mas tambm o prpri o
bol o, so tratados como bens de produo nas mos do confei tei ro. Carl Menger (Volks-
wirthschaftslehre. Cap. I , 2) di z que o po pertence pri mei ra ordem, a fari nha segunda,
o moi nho tercei ra, e assi m por di ante. Parece-nos ento que se um trem ferrovi ri o l eva
pessoas numa excurso de recrei o, e tambm al gumas l atas de bi scoi tos, maqui nri o de
moagem e al gum outro maqui nri o para o fabri co de mqui nas de moagem, tal trem seri a
ao mesmo tempo um bem de pri mei ra, segunda, tercei ra e quarta ordens.
di retamente.
89
E se ti vssemos que comear de novo, seri a mel hor con-
si derar produti vo todo o trabal ho, exceto aquel e que dei xasse de ati ngi r
o fi m col i mado, e que destarte no produzi sse uti l i dade al guma. Mas,
em todas as i nmeras modi fi caes que o senti do da pal avra produti vo
tem sofri do, el a sempre se tem referi do ri queza acumul ada, dei xando
um pouco de l ado, e at mesmo excl ui ndo, a sati sfao i medi ata e
transi tri a.
90
Uma tradi o quase i ni nterrupta compel e-nos a consi de-
rar que, em sua noo central , a pal avra se apl i ca provi so para as
necessi dades do futuro antes que as do presente. verdade que todas
as di verses saudvei s, sejam ou no sunturi as, so fi ns l eg ti mos da
ao pbl i ca ou pri vada; verdade tambm que o gozo do l uxo um
i ncenti vo ati vi dade l abori osa e promove o progresso de di versas for-
mas. Mas, se a efi ci nci a e a energi a da i ndstri a so uma mesma
coi sa, o verdadei ro i nteresse de um pa s geral mente mel hor servi do
pel a subordi nao do desejo de superfl ui dades transi tri as obteno
daquel es mai s sl i dos e duradouros recursos que ajudaro a i ndstri a
no seu tr abal ho futur o e contr i bui r o por vr i os modos a tor nar a
vi da mai s fci l . Essa i di a ger al tem si do apr esentada, em todos os
estgi os da teor i a econmi ca, como uma sol uo, por assi m di zer ;
di fer entes autor es a tm l anado em di sti nes vr i as, r gi das e
i nfl ex vei s, pel as quai s cer tos tr abal hos so jul gados pr oduti vos e
cer tos outr os i mpr oduti vos.
Mui tos autores, mesmo recentes, tm adotado, por exempl o, a
i di a de Adam Smi th de cl assi fi car os empregados domsti cos como
MARSHALL
131
89 Essa a defi ni o de Jevons (Theory of Political Economy. Cap. V), sal vo o fato de que
esse autor i ncl ui apenas os esforos penosos. Mas el e prpri o assi nal a quo penosa por
vezes a oci osi dade. Na sua mai or parte, as pessoas trabal ham mai s do que o fari am, se
consi derassem apenas o prazer di reto resul tante do trabal ho. Mas, quando se goza de boa
sade, o prazer predomi na sobre a fadi ga em grande parte, mesmo no trabal ho assal ari ado.
Sem dvi da, a defi ni o el sti ca. Um agri cul tor, ao trabal har no jardi m, ao anoi tecer,
pensa pri nci pal mente no fruto dos seus l abores; um mecni co de regresso ao l ar, depoi s
de um di a de l abuta enfadonha, encontra um deci di do prazer na jardi nagem, mas el e
tambm cui da bastante do fruto do seu trabal ho. Por outro l ado, um homem ri co, que
trabal he de manei ra semel hante, embora possa ter orgul ho em fazer o bem, provavel mente
pouco se l he dar qual quer economi a que l he resul te da .
90 Assi m, os mercanti l i stas, que consi deravam os metai s preci osos ri queza num senti do mai s
ampl o do que qual quer outra coi sa, em parte porque eram i mperec vei s, ti nham na conta
de i mproduti vo ou estri l todo o trabal ho que no se di ri gi sse no senti do de produzi r
bens para exportao, em troca de ouro e prata. Os fi si ocratas jul gavam estri l todo o
trabal ho que consumi sse um val or i gual ao que vi esse a produzi r, e consi deravam o agri cul tor
o ni co trabal hador produti vo, porque somente o seu trabal ho (como o jul gavam) dei xava
atrs de si um excedente l qui do de ri queza acumul ada. Adam Smi th abrandou a defi ni o
fi si ocrti ca, mas consi derava ai nda o trabal ho agr col a mai s produti vo que qual quer outro.
Os seus adeptos abandonaram essa di sti no, mas, de um modo geral , adotaram, ai nda
que com mui tas di vergnci as em questes de detal he, a noo de que trabal ho produti vo
o que tende a aumentar a ri queza acumul ada; noo que est mai s i mpl ci ta do que
expressa no cl ebre cap tul o do Wealth of Nations, que traz o t tul o Sobre a Acumul ao
de Capi tal , ou Sobre o Trabal ho Produti vo e I mproduti vo. (Ver TWI SS, Travers. Progress
of Political Economy, seo VI , e a di scusso sobre a pal avra Produti vo, nos Essays, de J.
S. Mi l l , e em seus Principles of Political Economy.)
i mproduti vos. Sem dvi da h em mui tas casas grandes uma supera-
bundnci a de cri ados, al guns dos quai s poderi am ter sua energi a trans-
feri da para outros empregos, com vantagem para a col eti vi dade. O
mesmo verdadei ro, porm, para a mai or parte dos que ganham a
vi da desti l ando u sque e, entretanto, nenhum economi sta props cha-
m-l os de i mproduti vos. No h nenhuma di sti no de carter entre
o trabal ho do padei ro que fornece po a uma fam l i a e o do cozi nhei ro
que cozi nha batatas. Se o padei ro tambm confei tei ro ou se fi zer
pes decorati vos, provvel que el e gaste ao menos tanto tempo quanto
o cozi nhei ro domsti co num trabal ho i mproduti vo segundo o senti do
vul gar, por prover as sati sfaes desnecessri as.
Sempre que usamos a pal avra produtivo i sol adamente, devemos
entender produtivo dos meios de produo ou de fontes durveis de
satisfao. , no entanto, uma pal avra amb gua e no deve ser usada
quando se exi ge preci so.
91
Se queremos us-l a num senti do diferente, devemos di z-l o. Por exem-
pl o, podemos fal ar de um trabal ho que produtivo de subsistncias etc.
Consumo produtivo, quando usado como termo tcni co, defi ni do
comumente como o uso da ri queza na produo de nova ri queza; mas
nel e no se deve i ncl ui r todo o consumo dos trabal hadores produti vos,
mas somente o necessri o para a sua efi ci nci a. O termo pode tal vez
ser ti l em estudos sobre a acumul ao da ri queza materi al . Mas pode
l evar a equ vocos, poi s o consumo o fi m da produo; e o consumo
sadi o produtor de benef ci os, dos quai s mui tos dos mai s val i osos no
contri buem di retamente para a produo de ri queza materi al .
92
OS ECONOMISTAS
132
91 Entre os mei os de produo so i ncl u dos os objetos necessri os ao trabal ho, mas no os
suprfl uos de l uxo; o fabri cante de gel o assi m cl assi fi cado como i mproduti vo se est
trabal hando para um pastel ei ro ou como um empregado parti cul ar de uma casa de campo.
Mas um pedrei ro empregado na construo de um teatro ti do como produti vo. Sem
dvi da, a di vi so entre fontes permanentes e efmeras de sati sfao vaga e sem consi s-
tnci a. Mas essa di fi cul dade exi ste na natureza das coi sas e no pode ser evi tada por
nenhum arranjo de pal avras. Podemos fal ar de um aumento dos homens grandes em rel ao
aos pequenos, sem deci di r se todos os que tenham aci ma de ci nco ps e nove pol egadas
so cl assi fi cados como al tos, ou s os que tm aci ma de ci nco ps e dez pol egadas. E
podemos fal ar no aumento do trabal ho produti vo custa do i mproduti vo, sem fi xar uma
l i nha r gi da e por i sso arbi trri a de di vi so entre el es. Se tal l i mi te arti fi ci al se torna
exi g vel para qual quer objeti vo parti cul ar, deve ser traado expl i ci tamente para essa ocasi o.
De fato, porm, tai s ocasi es raro ou nunca ocorrem.
92 Todas as di ferentes acepes em que a pal avra produti vo usada so mui to suti s e tm
um certo ar de i rreal i dade. No val eri a a pena apresent-l as agora. El as tm uma l onga
hi stri a e, provavel mente, mel hor que gradual mente cai am em desuso do que serem
abandonadas abruptamente. A tentati va para traar uma l i nha dura e i nfl ex vel de di sti no
onde no h desconti nui dade na Natureza tem, s vezes, fei to mui to mal , mas tal vez nunca
ti vesse l evado a resul tados mai s arti fi ci osos do que nas r gi das defi ni es que tm si do
dadas ao termo produti vo. Al gumas del as, por exempl o, l evam concl uso de que um
cantor numa pera i mproduti vo, mas o i mpressor dos bi l hetes de i ngresso na pera
produti vo. Enquanto o portei ro que aponta ao pbl i co os seus l ugares i mproduti vo, se
em l ugar di sso acontece de el e vender programas, ento se torna produti vo. Seni or observa
que no se di z que o cozi nhei ro no faz carne assada, mas que el e a prepara; mas di z-se
que el e faz um pudi m... Di z-se que um al fai ate faz do pano uma roupa, mas no se di z
3. I sso nos l eva a consi derar a expresso artigos de primeira
necessidade (necessaries). comum di sti ngui r-se entre arti gos de pri -
mei ra necessi dade, de um l ado, e, de outro, arti gos de conforto (conforts)
e de l uxo, i ncl ui ndo a pri mei ra cl asse todas as coi sas exi gi das para
atender s necessi dades que tm que ser sati sfei tas, enquanto a segui nte
consi ste de coi sas que atendem a necessi dades de carter menos ur-
gente. Novamente aqui , porm, h uma i mportuna ambi gi dade. Quan-
do di zemos que uma necessi dade deve ser sati sfei ta, quai s as conse-
qnci as que temos em vi sta se no sati sfei ta? Al canam el as a
morte? Ou apenas se estendem perda da fora e vi gor? Em outras
pal avras: os arti gos de pri mei ra necessi dade so as coi sas necessri as
vi da ou as necessri as efi ci nci a?
A expresso artigos de primeira necessidade, como o termo pro-
duti vo, tem si do empregada de forma el pti ca, dei xando ao l ei tor supri r
a matri a de que trata; e como essa matri a i mpl ci ta vari a, acontece
de quando em vez que o l ei tor supe o que o autor no ti nha em mente
e assi m deturpa o seu pensamento. Neste caso, como no precedente,
a pri nci pal fonte de confuso pode ser removi da i ndi cando-se expres-
samente, em cada passagem cr ti ca, o que o l ei tor deve entender.
O pri mi ti vo uso da expresso arti gos de pri mei ra necessi dade
era l i mi tado s coi sas sufi ci entes aos trabal hadores em conjunto para
manuteno prpri a e de suas fam l i as. Adam Smi th e seus segui dores
mai s cui dadosos observaram, na verdade, as vari aes no padro de
conforto e de decoro: e reconheceram que as di ferenas de cl i mas e
de costumes tornam necessri as coi sas que so suprfl uas em outras
ci rcunstnci as.
93
Mas Adam Smi th foi i nfl uenci ado pel os raci oc ni os
dos fi si ocratas, baseados na si tuao do povo francs no scul o XVI I I ,
a mai ori a do qual no ti nha noo al guma de quai squer necessi dades
al m das exi gi das para a mera exi stnci a. Em tempos mel hores, con-
tudo, uma anl i se mai s cui dadosa tem evi denci ado que h, para cada
ordem de i ndstri a, em qual quer tempo ou l ugar, uma renda mai s ou
menos cl aramente defi ni da que i mpresci nd vel para a subsi stnci a
de seus membros; enquanto h uma outra renda mai or, que necessri a
para manter essa i ndstri a em pl ena efi ci nci a.
94
MARSHALL
133
que um ti nturei ro faz de um pano desbotado um pano ti nto. A mudana produzi da pel o
ti nturei ro tal vez mai or do que a produzi da pel o al fai ate, mas o pano, ao passar pel as
mos do al fai ate, muda de nome, o que no acontece ao passar pel o ti nturei ro: o ti nturei ro
no produzi u um nome novo, nem por consegui nte uma coisa nova. (Pol. Econ. p. 51-52.)
93 Cf. CARVER. Principles of Political Economy. p. 474, que me chamou a ateno para a
observao de Adam Smi th, de que o costumei ro decoro i mpl i ca efeti vamente necessi dade.
94 Assi m, no sul da I ngl aterra, a popul ao cresceu numa boa taxa durante os l ti mos cem
anos, l evando-se em conta a emi grao. Mas a produti vi dade do trabal ho, que anti gamente
era to al ta quanto a do norte da I ngl aterra, bai xou rel ati vamente do norte; de sorte
que a mo de obra a bai xo sal ri o do sul fi ca mui tas vezes mai s cara do que o trabal ho
mel hor pago, do norte. No podemos, poi s, di zer se os operri os do sul tm si do supri dos,
ou no, das subsi stnci as, a no ser que sai bamos em qual dos doi s senti dos usada a
expresso. El es tm ti do o estri to necessri o para vi ver e aumentar de nmero, mas
Pode acontecer que os sal ri os ganhos por al guma cl asse soci al
fossem sufi ci entes para manter uma al ta efi ci nci a, se despendi dos
com perfei ta sabedori a. Mas toda esti mati va de necessi dades deve ser
rel ati va a determi nado l ugar e tempo. Sal vo havendo especi al cl usul a
i nterpretati va em contrri o, deve se supor que os sal ri os sero gastos
exatamente com a soma de sabedori a, previ dnci a e desprendi mento,
que preval ece de fato na cl asse em exame. Assi m entendendo, podemos
di zer que a renda de al guma cl asse de operri os est abai xo do seu
n vel necessrio, quando um aumento na sua renda vi ri a a produzi r,
no curso do tempo, um aumento mai s que proporci onal em sua efi -
ci nci a. O consumo pode ser di mi nu do pel a mudana de hbi tos, mas
qual quer pri vao dos objetos de necessi dade rui nosa.
95
4. Teremos que fazer um estudo at certo ponto detal hado das
necessi dades para efi ci ncia das di ferentes cl asses de trabalhadores, quan-
do ti vermos de i nvesti gar as causas que determi nam a oferta de trabal ho
efi ci ente. Servi r, porm, para dar al guma preci so s nossas i di as con-
si derarmos agora quai s as coi sas de necessi dade na I ngl aterra e na poca
presente, para efi ci ncia de um trabalhador agr col a ordi nri o, ou de um
trabalhador urbano no-qual i fi cado e de sua fam l i a. Podemos di zer que
consistem numa casa com boas instalaes, vri os quartos, roupa quente,
com algumas mudas de roupa de baixo, gua pura, suprimento abundante
de al i mentos base de cereai s, certa quanti dade de carne e l ei te e um
pouco de ch etc., al guma educao e di straes e, por fi m, que sua mul her
seja sufi ci entemente l i vre de outro trabal ho, de sorte a cumpri r bem os
seus deveres de me e de dona de casa. Se em al gum di stri to o trabal hador
no-qual i fi cado pri vado de qual quer destas coi sas, sua efi cinci a sofrer
tanto quanto a de um cavalo malcuidado, ou a da mquina a vapor com
insufi ci ente abasteci mento de carvo. Todo consumo at esse l i mi te
estri tamente um consumo produti vo: toda restri o desse consumo no
econmi ca, mas danosa.
Em adi o, ai nda, certo consumo de l cool e de fumo, e certas con-
OS ECONOMISTAS
134
mani festo que no tm ti do o necessri o para a efi ci nci a. Deve ser, entretanto, l embrado
que os mai s fortes operri os do sul tm mi grado para o norte constantemente; e que as
energi as dos do norte tm cresci do pel a mai or margem de l i berdade econmi ca e pel a
esperana de subi r mai s al ta posi o. Ver MACKAY. i n: Charity Organization J ournal.
Feverei ro de 1891.
95 Se consi derarmos um i ndi v duo de excepci onai s apti des, teremos que l evar em conta o
fato de que no h entre o val or real do seu trabal ho para a comuni dade e o rendi mento
que el e ti ra do mesmo a mesma estrei ta correspondnci a que ocorre no caso de um membro
qual quer de al guma categori a i ndustri al . Ter amos que di zer que todo o seu consumo
estri tamente produti vo e necessri o, tanto que pel a reduo de qual quer parcel a desse
consumo a sua efi ci nci a di mi nui r numa quanti dade de val or real mui to mai or para el e
e para o resto do mundo, do que o que foi poupado de seu consumo. Se um Newton ou
um Watt pudesse acrescentar uma centsi ma parte de sua produti vi dade dupl i cando sua
despesa pessoal , o aumento do seu consumo teri a si do verdadei ramente produti vo. Como
veremos adi ante, um caso anl ogo o cul ti vo adi ci onal num sol o ri co que d al ta renda:
i sso pode ser l ucrati vo, ai nda que a compensao obti da no seja proporci onal .
cesses moda no vesti r, so em mui tos l ugares to habi tuais que podem
ser ti dos como necessidades convencionais, j que, para obt-l os, o homem
e a mul her mdi os sacri fi caro al gumas coi sas exi gi das para a efi ci ncia.
Seus sal ri os fi cam por i sso menores do que os prati camente necessri os
efi ci nci a, se el es no provem, al m do consumo estri tamente necessri o,
tambm uma certa soma de necessi dades convenci onai s.
96
O consumo de objetos de necessi dade convenci onal por operri os
comumente cl assi fi cado como consumo produti vo, mas, estri tamente
fal ando, no o deve ser; e em certas passagens uma especi al cl usul a
i nterpretati va deve ser acrescentada para escl arecer se essas necessi -
dades convenci onai s esto ou no i ncl u das no consumo.
Deve ser, contudo, observado que mui tas coi sas, descri tas com
razo como de l uxo suprfl uo, podem, at certo ponto, ocupar o l ugar
de coi sas necessri as e, nesse senti do, seu consumo produti vo quando
so consumi das pel os produtores.
97
MARSHALL
135
96 Compare-se a di sti no entre coisas f si cas e pol ti cas, em STEUART, James. I nquiry.
1767. I I , 21.
97 Assi m, um prato de ervi l has em maro, custando cerca de 10 xel i ns, um l uxo suprfl uo;
embora seja comi da saudvel . Faz o mesmo efei to que 3 pence de repol ho, ou mesmo, um
pouco mai s, uma vez que a vari edade conduz sade. Assi m, el e pode fi gurar no val or de
4 pence, como arti go de necessi dade, e no val or de 9 xel i ns e 8 pence como superfl ui dade;
seu consumo pode ser consi derado estri tamente produti vo no l i mi te de 1/40. Em casos
excepci onai s, como por exempl o quando as ervi l has so servi das a um enfermo, os 10 xel i ns
por i ntei ro podem estar bem gastos, e reproduzi r o seu prpri o val or.
No empenho de dar preci so s i di as, seri a conveni ente aventurar-se a fazer al guns cl cul os
de necessi dades, ai nda que aproxi mados. Com os preos atuai s, tal vez as estri tas necessi -
dades para uma fam l i a rural mdi a sejam cobertas por 15 ou 18 xel i ns por semana, e as
necessi dades convenci onai s por cerca de 5 xel i ns a mai s. Para o trabal hador urbano no-
qual i fi cado, poucos xel i ns devem ser acrescentados para as necessi dades estri tas. Para a
fam l i a de um trabal hador qual i fi cado vi vendo na ci dade, podemos tomar 25 ou 30 xel i ns
para as necessi dades estri tas, e 10 xel i ns para as convenci onai s. Para um homem cujo
crebro deve suportar uma grande e cont nua tenso, as necessi dades estri tas so qui
de 200 ou 250 l i bras esterl i nas num ano se el e sol tei ro; porm, mai s de duas vezes i sso
se el e tem uma di spendi osa fam l i a a educar. Suas necessi dades convenci onai s dependem
da natureza de sua profi sso.
CAPTULO IV
Renda Capital
1. Numa comuni dade pri mi ti va cada fam l i a quase que se basta
a si mesma e produz a mai or parte de seu al i mento, suas roupas e mesmo
seus mvei s. Somente uma pequena parte dos rendi mentos ou i ngressos
da fam lia se apresenta sob a forma de di nheiro. Quando se pensa em
seus rendi mentos, se for o caso, i ncl uem-se entre el es os benef ci os que
obtm de seus utens l i os de cozi nha, tanto quanto os de arados; no se
faz di sti no entre o capi tal e o resto de seus bens acumul ados, que com-
preendem tanto os utens l i os de cozi nha como os arados.
98
Mas, com o desenvol vi mento de uma economi a monetri a, a ten-
dnci a tem si do no senti do de restri ngi r a noo de renda aos i ngressos
em di nhei ro, nel es i ncl u dos os pagamentos em espci e (moradi a gra-
tui ta, gratui dade de combust vel , gs, gua), que fi guram como parte
da remunerao de um empregado em l ugar do pagamento em di nhei ro.
De acordo com esse senti do da pal avra renda (income), a l i ngua-
gem do mundo dos negci os ordi nari amente consi dera capi tal de um
homem a parte de seus bens que el e consagra para adqui ri r uma renda
em di nhei ro, ou, para fal ar de uma manei ra mai s geral , aqui si o
(Erwerbung) por mei o do comrci o. Pode ser al gumas vezes mai s con-
veni ente dar a esses bens uti l i zados em empresas comerci ai s ou i n-
dustri ai s o nome de capi tal de empresa ou capi tal mercanti l (trade
capital), o qual pode ser defi ni do como o conjunto de bens externos
que uma pessoa emprega em seu negci o, tendo-os em seu poder para
serem vendi dos por di nhei ro ou para empreg-l os na produo de coi sas
que, em segui da, sero vendi das por di nhei ro. Podem-se ci tar, entre
137
98 Estes e outros fatos semel hantes l evaram al gumas pessoas a supor no somente que certas
partes da teori a moderna da di stri bui o e da troca so i napl i cvei s comuni dade pri mi ti va,
o que, al i s, verdade; mas tambm que nenhuma parte i mportante dessa teori a l hes seja
apl i cvel , o que no verdade. Ei s a um notvel exempl o dos peri gos a que nos l eva a
escravi zao s pal avras, subtrai ndo-nos assi m ao duro l abor que necessri o para perceber
a uni dade substanci al sob a vari edade da forma.
os el ementos i mportantes do capi tal assi m compreendi do, coi sas como
a fbri ca e o equi pamento de um i ndustri al , i sto , suas mqui nas,
matri as-pri mas, manti mentos, roupas, o al ojamento que el e possa di s-
por para uso de seus empregados, assi m como a cl i entel a de seu negci o.
s coi sas que esto em seu poder preci so juntar aquel as sobre
as quai s tem di rei to e de onde ti ra renda: emprsti mos fei tos sob hi -
poteca ou de outro modo qual quer, e todo o capi tal de que pode di spor
graas s formas compl exas do mercado fi nancei ro moderno. Por outro
l ado, suas d vi das devem ser deduzi das do capi tal .
Essa defi ni o de capi tal do ponto de vi sta i ndi vi dual , ou do
ponto de vi sta de negci os, est fi rmemente estabel eci da pel o uso co-
mum. El a estar subentendi da na presente obra toda vez que ti vermos
que di scuti r probl emas rel aci onados aos negci os em geral e, especi al -
mente, oferta de qual quer grupo determi nado de mercadori as para
venda no mercado aberto. Renda e capi tal sero di scuti dos do ponto
de vi sta dos negci os pri vados na pri mei ra metade do cap tul o; o ponto
de vi sta soci al ser consi derado em segui da.
2. Se uma pessoa tem um negci o, certo que ter que fazer
certas despesas para as matri as-pri mas, o sal ri o dos operri os etc.
E neste caso acha-se sua renda verdadei ra ou renda lquida deduzi ndo
da renda bruta as despesas de sua produo.
99
Todo trabal ho que uma pessoa faz e pel o qual recebe, di reta ou
i ndi retamente, um pagamento em di nhei ro, contri bui para aumentar
sua renda nomi nal ; mas os servi os que el a presta a si mesma no
so consi derados parcel as da sua renda nomi nal . Mas, se o mel hor
geral mente desprez-l os quando so tri vi ai s, preci so, entretanto,
consi der-l os quando se trata daquel es que se obteri am a preo de
di nhei ro. Assi m, uma mul her que faz seus vesti dos ou um homem que
trata, el e prpri o, de seu jardi m ou conserta a sua casa obtm para
si uma renda, como o fari a a costurei ra, o jardi nei ro ou o pedrei ro que
fossem contratados para esses trabal hos.
A esse respei to, propomos uma expresso de que teremos dora-
vante que fazer uso freqente. A sua necessi dade se faz senti r pel a
razo de que toda ocupao apresenta outros i nconveni entes al m da
fadi ga que o seu l abor ocasi ona, e oferece, tambm, outras vantagens
al m do di nhei ro que por mei o del a se ganha. A verdadei ra remunerao
ofereci da por uma ocupao obtm-se, ento, deduzi ndo o val or em
di nhei ro, de todos os seus i nconveni entes do de suas vantagens; e po-
demos desi gnar essa remunerao verdadei ra sob o nome de vantagens
lquidas dessa ocupao.
O pagamento fei to por um muturi o pel o uso de um emprsti mo,
OS ECONOMISTAS
138
99 Veja-se um rel atri o da British Association, sobre I ncome Tax, de 1878.
durante um ano, por exempl o, se expri me pel a rel ao entre esse pa-
gamento e o emprsti mo, e chamado de juro. E esse termo tambm
usado, num senti do mai s ampl o, para representar a quanti a equi val ente
renda total deri vada do capi tal . comumente expressa como uma
certa percentagem sobre a soma do capi tal emprestado. Nesse caso o
capi tal no deve ser consi derado um estoque de coi sas em geral : deve
ser consi derado um estoque de uma coi sa em parti cul ar o di nhei ro
que tomado para represent-l as. Assi m 100 l i bras podem ser em-
prestadas a 4%, i sto , por um juro anual de 4 l i bras. E se uma pessoa
i nveste em seu negci o um capi tal em bens aval i ados em 10 000 l i bras,
ento 400 l i bras anuai s representari am o juro taxa de 4% sobre esse
capi tal , supondo-se que o val or monetri o acumul ado dos bens que o
consti tuem tenha permaneci do i nal terado. Essa pessoa, entretanto, no
conti nuari a o negci o se no esperasse que o total dos ganhos l qui dos
del e deri vados excedesse o juro sobre o seu capi tal , taxa corrente.
Esses ganhos so chamados lucros.
Os bens de que se di spe, at um determi nado val or em di nhei ro,
que pode ser apl i cado em qual quer fi nal i dade, comumente denomi -
nado como capi tal l i vre ou fl utuante.
100
Quando uma pessoa di ri ge uma empresa, o seu l ucro anual
formado pel o excedente de suas recei tas sobre as despesas durante o
ano. A di ferena entre o val or de seus estoques e i nstal aes no fi m
e no comeo do ano, fi gura ou nas suas recei tas, ou nas despesas,
conforme tenham sofri do um aumento ou uma di mi nui o de seu val or.
O que resta do l ucro, fei ta a deduo do juro do capi tal taxa corrente
(consi derando seguro, quando necessri o), pode ser chamado de bene-
fcio de empresa ou da direo. A rel ao entre os seus l ucros anuai s
e o seu capi tal chamada de taxa de lucros. Mas esta expresso, como
a correspondente a juro, pressupe que o val or em di nhei ro das coi sas
que consti tuem o capi tal tenha si do computado; e tal aval i ao encontra,
mui tas vezes, grandes di fi cul dades.
Quando determi nada coi sa, como uma casa, um pi ano ou uma
mqui na de costura, al ugada, a i mportnci a paga pel o seu uso
chamada renda (rent). E os economi stas podem segui r essa prti ca,
sem mai ores i nconveni entes, quando consi deram o rendi mento do ponto
de vi sta do comerci ante i ndi vi dual . Mas, como demonstraremos adi ante,
parece haver mai or vantagem em reservar o termo renda para o ren-
di mento deri vado dos bens gratui tos da Natureza, toda a vez que a
di scusso dos assuntos de negci os passa do ponto de vi sta do i ndi v duo
para o da soci edade em geral . E por essa razo o termo quase-renda
MARSHALL
139
100 O professor Cl ark sugeri u que se di sti ngui sse entre Capital Puro e Bens de Capital: o pri mei ro
corresponderi a a uma cachoei ra que permanece estaci onri a, enquanto os segundos seri am
determi nadas coi sas que entram e saem dos negci os, como gotas que passam atravs da
cachoei ra. Natural mente, el e rel aci onari a o juro com o capi tal puro, no com bens de capi tal .
(quasi-rent) ser apl i cado no presente vol ume ao rendi mento deri vado
das mqui nas e de outros i nstrumentos de produo fei tos pel o homem.
Quer di zer, uma determi nada mqui na pode dar uma recei ta que
da natureza de uma renda e que al gumas vezes mesmo chamada de
renda; de um modo geral , porm, parece haver al guma vantagem em
cham-l a de quase-renda. No poderemos, contudo, fal ar propri amente
de um juro produzi do por uma mqui na. Se ti vermos que usar a ex-
presso juro, deve ser em rel ao no mqui na em si , mas ao seu
valor em di nhei ro. Se, por exempl o, o trabal ho fei to por uma mqui na
que custa 100 l i bras tem um val or l qui do de 4 l i bras anuai s, esta
mqui na estar produzi ndo uma quase-renda de 4 l i bras, que equi -
val ente a um juro de 4% sobre o seu custo ori gi nal ; mas se a mqui na
val e agora somente 80 l i bras, estar produzi ndo 5% sobre o seu val or
atual . I sso, entretanto, envol ve al gumas di f cei s questes de pri nc pi o,
que sero di scuti das no Li vro Qui nto.
3. Consi deremos, em segui da, al guns detal hes com respei to ao
capi tal . Tem si do el e cl assi fi cado em capital de consumo e capital auxiliar
ou instrumental; e embora no se possa fazer uma di sti no cl ara entre
as duas cl asses, talvez seja conveniente usar esses termos, ainda que
sejam el es um tanto vagos. Quando for necessri o mai or preci so deve-se
evi tar o uso desses termos, fazendo-se uma enumerao expl ci ta do que
se pretende. A noo geral da di sti no que esses termos sugerem pode
ser deduzi da das segui ntes defi ni es aproxi madas:
O capital de consumo compreende os bens que sati sfazem neces-
si dades di retamente, i sto , bens que servem di retamente ao sustento
dos trabal hadores, tai s como al i mentos, roupas, al ojamentos etc.
O capital auxiliar ou instrumental assi m denomi nado porque
consi ste de todos os bens que ajudam o trabal ho na produo. Nesta
categori a entram as ferramentas, mqui nas, fbri cas, estradas de ferro,
docas, navi os etc. e as matri as-pri mas de todas as espci es.
Mas evi dente que as roupas de um homem ajudam-no em seu
trabal ho e, mantendo-o aqueci do, so para el e auxi l i ares de seu trabal ho;
o abri go de sua ofi ci na o benefi ci a di retamente, tal como o de sua casa.
101
Podemos em segui da di sti ngui r com Mi l l entre capital circulante
que perfaz por um s uso todo o seu papel na produo onde empregado,
do capital fixo que se apresenta sob uma forma duradoura e cujo ren-
di mento se estende por um per odo de durao correspondente.
102
4. O costumei ro ponto de vi sta dos homens de negci os o que
OS ECONOMISTAS
140
101 Ver Li vro Segundo. Cap. I I I , 1.
102 A di sti no fei ta por Adam Smi th entre capi tal fi xo e ci rcul ante gi rava em torno da questo
de saber se os bens do um l ucro sem mudar de propri etri os, ou em mudando. Ri cardo
f-l a repousar sobre a questo de saber se os bens so de consumo l ento ou exi gem freqentes
reprodues; mas el e observa, com razo, que essa no uma di vi so essenci al , e na
qual se possa traar uma l i nha de demarcao exata. A modi fi cao trazi da por Mi l l
geral mente acei ta pel os economi stas modernos.
mai s convm aos economi stas adotar quando di scutem a produo de
bens para o mercado e as causas que governam o seu val or de troca.
Mas h um mai s l ato ponto de vi sta que os homens de negci os, tanto
quanto os economi stas, devem adotar quando estudam as causas que
governam o bem-estar da col eti vi dade como um todo. Na l i nguagem
comum se pode passar de um ponto de vi sta para o outro sem mai ores
precaues, poi s se surge uma i ncompreenso, esta cedo se evi denci a
e a confuso se desfaz com uma pergunta ou uma expl i cao espontnea.
Mas o economi sta no pode assumi r tal ri sco: deve real ar qual quer
mudana em seu ponto de vi sta ou em sua termi nol ogi a. O cami nho
poderi a parecer mai s fci l , a pri nc pi o, se el e fi zesse tal mudana i m-
percepti vel mente, mas, a l ongo prazo, progredi ri a mel hor com uma
i ndi cao cl ara da si gni fi cao emprestada a cada termo em todos os
casos duvi dosos.
103
Adotemos, del i beradamente, por consegui nte, no restante deste
cap tul o, o ponto de vista social em contraste com o i ndi vi dual : consi -
deremos a produo da col eti vi dade como um todo e a total i dade de
seu rendi mento l qui do di spon vel para todas as fi nal i dades. I sto ,
revertamos at quase o ponto de vi sta de um povo pri mi ti vo, preocupado
pri nci pal mente com a produo de coi sas desejvei s e com seus usos
i medi atos e que pouca ateno d troca e comerci al i zao.
Desse ponto de vi sta, a renda consi derada enquanto compreende
todos os proventos que a Humani dade obtm, em qual quer tempo, de
seu esforo no presente e no passado, para ti rar o mel hor parti do pos-
s vel dos recursos da Natureza. O prazer que se sente com a contem-
pl ao das bel ezas do arco- ri s ou a doura do ar fresco da manh no
so l evados em conta, no porque sejam sem i mportnci a, nem porque
a aval i ao fi que, de qual quer modo, vi ci ada pel a sua i ncl uso; mas
somente porque comput-l os no seri a de bom provei to, ao mesmo tem-
po que aumentari a grandemente a extenso de nossas sentenas e a
prol i xi dade da di scusso. Por i dnti ca razo no val e a pena consi derar,
separadamente, os servi os comuns que os homens prestam a si pr-
pri os, tai s como se vesti rem, embora haja al gumas poucas pessoas que
paguem a outras para que l hes faam tai s coi sas. A excl uso di sso
no envol ve nenhuma questo de pri nc pi o e o tempo dedi cado sua
di scusso, por autores controverti dos, tem si do desperdi ado. si m-
pl esmente uma conseqnci a da mxi ma De minimis non curat lex.
Um motori sta que, sem perceber uma poa em seu cami nho, respi nga
um pedestre, no pode ser acusado de l he ter causado, do ponto de
vi sta l egal , um dano; no exi ste, contudo, di ferena de pri nc pi o entre
esse ato e o de um outro motori sta que, por i dnti ca fal ta de ateno,
vi ti masse seri amente al gum.
MARSHALL
141
103 Compare com o Li vro Segundo. Cap. I , 3.
O trabal ho atual de um homem a servi o prpri o d-l he uma
renda di retamente e el e espera ser pago, desta ou daquel a forma, se
o faz como um negci o ao servi o de outros. Do mesmo modo, qual quer
coi sa ti l que el e tenha fei to ou adqui ri do no passado, ou que tenha
recebi do, pel as i nsti tui es vi gentes da propri edade, de outros que a
tenham fei to ou adqui ri do, geral mente uma fonte de benef ci o materi al
para si , di reta ou i ndi retamente. Se el e a apl i ca em seus negci os,
esse rendi mento aparece comumente sob a forma de di nhei ro. Mas um
uso mai s ampl o desse termo ocasi onal mente necessri o, compreen-
dendo o rendi mento total dos benef ci os de toda a sorte que uma pessoa
obtm da posse de uma propri edade apl i cada de qual quer forma; i ncl ui ,
por exempl o, os benef ci os que el a obtm do uso de seu pi ano, i guai s
aos que um comerci ante obtm com o al uguel de um pi ano. A l i nguagem
da vi da comum, ai nda que adversa a to l ato uso da expresso Renda
mesmo quando di scute probl emas soci ai s, no obstante i ncl ui , usual -
mente, certo nmero de formas de renda, al m da renda em di nhei ro.
Os agentes do fi sco consi deram uma casa, mesmo quando habi -
tada por seu propri etri o, como fonte de renda sujei ta a i mposto, embora
el a d di retamente a sua renda sob a forma de conforto. El es assi m
agem no em vi rtude de um pri nc pi o abstrato, mas, em parte, por
causa da i mportnci a prti ca da moradi a, e em parte porque a pro-
pri edade de uma casa comumente consi derada de um modo comerci al ,
e tambm porque a renda real que del a provm pode ser faci l mente
di scri mi nada e aval i ada. El es no pretendem, com i sso, estabel ecer
uma di sti no absol uta de espci e entre as coi sas que o seu regul amento
i ncl ui e as que el e excl ui .
Jevons, consi derando o probl ema de um ponto de vi sta puramente
matemti co, ti nha razo em cl assi fi car como capi tal todos os bens em
poder dos consumidores. Alguns autores, porm, ao mesmo tempo que
desenvol vem essa sugesto com grande engenhosi dade, consi deram-na um
grande pri nc pi o, o que parece ser um erro de apreci ao. Um verdadei ro
senso de proporo exi ge que no sobrecarreguemos nosso trabal ho com
uma infi ndvel enumerao de detal hes de i mportncia secundri a, que
no so l evados em conta na l i nguagem comum, e que no podem mesmo
ser descri tos sem ofensa s convenes popul ares.
5. I sso nos l eva a consi derar o uso do termo capital do ponto
de vi sta de sua rel ao com o bem-estar materi al da soci edade como
um todo. Adam Smi th di sse que o capi tal de uma pessoa a parte
de seu patri mni o da qual espera ti rar um rendi mento. De fato, quase
todos os usos que se tm fei to da pal avra capi tal se prendem, mai s
ou menos estri tamente, a um dos empregos paral el os da pal avra renda.
Em quase todos os senti dos tem si do o capi tal consi derado essa parte
dos bens de um homem onde el e conta ti rar uma renda.
O uso mai s i mportante do termo capital em geral , i sto , do
OS ECONOMISTAS
142
ponto de vi sta soci al , vem da i nvesti gao de como os trs agentes de
produo, a terra (i sto , os agentes naturai s), o trabal ho e o capi tal ,
contri buem para a cri ao da renda naci onal (ou do di vi dendo naci onal ,
como a denomi naremos em segui da); e de como essa renda di stri bu da
entre os trs agentes. Essa uma razo a mai s para tornar as ex-
presses capital e renda correl atas do ponto de vi sta soci al , tal como
a fi zemos do ponto de vi sta i ndi vi dual .
De acordo com o exposto, propomo-nos neste tratado a consi derar
como fazendo parte do capi tal , do ponto de vi sta soci al , todas as coi sas
di sti ntas da terra que produzem renda ou recei ta, consi deradas geral -
mente tai s na conversao corrente, em conjunto com coi sas anl ogas
de dom ni o pbl i co, como as fbri cas do governo: reserva-se o termo
terra para todos os dons gratui tos da natureza, tai s como mi nas, pes-
quei ros etc., que produzem renda.
Assi m, poi s, o termo capital compreender todas as coi sas que
so possu das com fi nal i dade comerci al , quer se trate de maqui nari a,
de matri a-pri ma ou produtos acabados; de teatros e hoti s; de fazendas
e casas mas no se i ncl ui a mob l i a nem a roupa que esti verem
sendo usadas pel os seus prpri os donos. I sso porque os pri mei ros el e-
mentos ci tados so consi derados usual mente capazes de produzi r renda,
enquanto os segundos so ti dos como no produtores, o que fci l de
veri fi car atravs do l anamento de i mpostos.
Esse emprego do termo est de acordo com a prti ca corrente entre
os economi stas de tratar os probl emas soci ai s a pri nc pi o de uma manei ra
ampl a, dei xando os detal hes para consi deraes posteri ores; est tambm
em harmoni a com o costume desses mesmos economi stas de i ncl ui r na
noo de Trabalho apenas as ati vi dades que so consi deradas fonte de
renda, no senti do mai s l ato do termo. O trabal ho, o capi tal e a terra,
assi m defi ni dos, so as fontes de todo o rendi mento que se toma habi -
tual mente em consi derao ao computar a Renda Naci onal.
104
6. A renda soci al pode ser cal cul ada pel a soma das rendas dos
i ndi v duos que compem a soci edade em questo, quer se trate de uma
nao ou de um grupo de pessoas. preci so, porm, no computar
duas vezes a mesma coi sa. Ao computarmos um tapete pel o seu val or
total , j fi ca computado o val or da l e do trabal ho uti l i zado em con-
fecci on-l o, e esses el ementos, portanto, no devem ser computados
novamente. E, mai s ai nda, se o tapete foi fei to com uma l que j se
MARSHALL
143
104 Da mesma manei ra que, para fi ns prti cos, mel hor no nos sobrecarregarmos com a
especi fi cao da renda proveni ente do benef ci o que um homem obtm, graas ao trabal ho
de escovar o seu chapu di ari amente, tambm convm, por outro l ado, i gnorar o el emento
do capi tal que est i ncl u do na escova. Consi deraes dessa espci e no surgem numa
di scusso puramente abstrata. Por consegui nte, a si mpl i ci dade l gi ca da afi rmao de Je-
vons, de que os bens nas mos dos consumi dores consti tuem um capi tal , tem al gumas
vantagens e nenhuma desvantagem para uma verso matemti ca das doutri nas econmi cas.
achava em estoque no pri nc pi o do ano, o val or dessa l deve ser de-
duzi do do val or do tapete, para que se possa obter o val or l qui do da
renda do ano em questo. Dedues si mi l ares preci sam ser fei tas em
rel ao depreci ao da maqui nari a e desgaste de outras i nstal aes
uti l i zadas na confeco do tapete. I sso i ndi spensvel em vi sta da
regra geral , em que nos baseamos, de que a renda verdadei ra, ou
renda l qui da, obti da deduzi ndo da renda bruta os di spndi os que
contri bu ram para a sua produo.
Mas se a l i mpeza do tapete for fei ta pel os empregados domsti cos
ou por uma l avanderi a especi al i zada, preci so que se compute sepa-
radamente o val or do trabal ho gasto em l i mp-l o, porque se no for
assi m, no i nventri o das mercadori as e servi os recm-produzi dos, que
consti tuem a verdadei ra renda do pa s, no constar o resul tado desse
trabal ho. O trabal ho dos empregados domsti cos sempre cl assi fi cado
como trabal ho no senti do tcni co, e como el e pode ser computado en
bloc pel o val or da remunerao em di nhei ro e em espci e que esses
empregados recebem, sem que seja preci so enumer-l o detal hadamente,
a i ncl uso desse el emento no apresenta nenhuma di fi cul dade esta-
t sti ca. H, no entanto, uma certa i nconsi stnci a no fato de se omi ti r
o pesado trabal ho domsti co fei to por mul heres e outros membros da
fam l i a, onde no h empregados.
Do mesmo modo, suponhamos que um propri etri o que tenha
uma renda anual de 10 mi l l i bras contrate um secretri o parti cul ar
que receber o sal ri o de 500 l i bras, e que este, por sua vez, contrate
um empregado por 50 l i bras. Pode parecer que, caso a renda dessas
trs pessoas seja computada na renda l qui da do pa s, parte del a ter
si do computada duas vezes, e outra parte trs vezes. Mas no esse
o caso. O propri etri o transfere ao secretri o, em troca do aux l i o deste,
parte do poder aqui si ti vo que possui graas aos produtos da terra. O
secretri o, por sua vez, transfere parte do que recebe para o cri ado,
em troca do aux l i o deste. Os produtos da fazenda cujo val or chega
s mos do propri etri o sob a forma de renda (rent) os servi os que
o propri etri o recebe do secretri o e os que este, por sua vez, recebe
do cri ado, consti tuem partes i ndependentes da renda l qui da do pa s.
Portanto as 10 mi l , 500 e 50 l i bras, que so medi das em di nhei ro das
di ferentes rendas i ndi vi duai s, devem ser todas computadas ao cal cu-
l armos a renda do pa s. Mas se o propri etri o desse a seu fi l ho 500
l i bras por ano, essas 500 l i bras no devi am ser consi deradas uma renda
parte, porque nenhum servi o foi prestado, em troca del as, e essas
l i bras no seri am l evadas em consi derao para o cl cul o do i mposto
sobre a renda.
Como os pagamentos lquidos que um indi v duo recebe por juros
etc. l qui dos, i sto , depoi s de deduzi do o que el e deve a outras pessoas
, fazem parte da sua renda, tambm faz parte da renda de uma nao
o di nhei ro e outros bens que el e recebe lquido das demai s naes.
OS ECONOMISTAS
144
7. A renda monetri a, ou i ngressos em di nhei ro, de ri queza,
d uma medi da da prosperi dade da nao que, por mai s fal ha que
seja, todavi a mel hor, sob certos aspectos, do que a proporci onada
pel o val or monetri o do seu estoque de ri queza.
Com efei to, a renda consi ste pri nci pal mente em mercadori as, que
se apresentam sob uma forma que permi te aprovei t-l as di retamente,
ao passo que a mai or parte da ri queza naci onal consi ste em mei os de
produo, que s so tei s nao na medi da em que servem para
produzi r mercadori as prontas para o consumo. E, al m di sso, embora
se trate de um ponto de menor i mportnci a, como as mercadori as de
consumo so mai s porttei s, el as tm no mercado mundi al um preo
mai s uni forme do que os el ementos que servi ram para produzi -l as: o
preo de um acre de terra arvel em Mani toba e em Kent di fere mai s
do que o preo de um bushel de tri go nos doi s pa ses.
Mas se consi derarmos pri nci pal mente a renda de um pa s, pre-
ci so ter em conta a depreci ao das fontes que produzem essa renda.
Na renda proveni ente de uma casa preci so fazer uma deduo mai or
se el a for fei ta de madei ra do que se ti ver si do constru da com pedras.
Mesmo que as casas de madei ra e a de pedra abri guem i gual mente,
a segunda conta mai s do que a pri mei ra na renda de um pa s. Da
mesma manei ra, uma mi na pode dar, durante al gum tempo, uma gran-
de renda, e esgotar-se em poucos anos. Nesse caso el a deve ser con-
si derada equi val ente a um campo, ou a um pesquei ro que d uma
renda anual mui to menor, porm de modo permanente.
8. Num raci oc ni o puramente abstrato, e especi al mente no ma-
temti co, os termos Capi tal e Ri queza so uti l i zados quase que obri -
gatori amente como si nni mos, embora a terra propri amente di ta no
esteja, em certos casos, i ncl u da em Capi tal . H, porm, uma tradi o
segundo a qual devemos fal ar de Capi tal quando consi deramos coi sas
como agentes de produo, e fal ar em ri queza quando as consi deramos
como resul tado da produo, como objetos de consumo e como capazes
de dar os prazeres da posse. Assi m, a procura do capi tal devi da,
pri nci pal mente, sua produti vi dade e aos servi os que el e presta, como
por exempl o o de fazer com que a l possa ser fi ada e teci da mai s
faci l mente do que o seri a sem aux l i o da mqui na, ou de permi ti r que
a gua fl ua l i vremente onde necessri o, sem que seja preci so trans-
port-l a l abori osamente em bal des (embora haja outras manei ras de
empregar o capi tal , como por exempl o quando el e emprestado a um
perdul ri o, que no pode entrar nessa categori a). Por outro l ado, a
oferta de capi tal control ada pel o fato de, para acumul -l o, ser i n-
di spensvel agi r previ dentemente: preci so esperar e poupar
preci so sacri fi car o presente ao futuro.
No pri nc pi o deste Li vro argumentamos que o economi sta preci sa
desi sti r do aux l i o de uma sri e de termos tcni cos. El e deve fazer com
MARSHALL
145
que os termos usados correntemente expri mam seu pensamento de uma
forma preci sa, medi ante a ajuda de adjeti vos qual i fi cati vos ou outras i n-
di caes no texto. Se el e, arbi trari amente, d a uma palavra que tenha
vri os senti dos, todos mai s ou menos vagos na prti ca, um sentido restri to,
acabar por l anar confuso entre os homens de negci os e correr o ri sco
de se col ocar numa posi o i nsustentvel . A sel eo de um uso normal
para termos como Renda e Capi tal deve, portanto, ser posta prova,
conforme o emprego desses termos na vi da real .
105
OS ECONOMISTAS
146
105 Podemos dar aqui uma sumri a anteci pao deste trabal ho. Ver-se- como o Capi tal deve
ser consi derado tanto em rel ao ao conjunto dos benef ci os obti dos com a sua apl i cao,
como em rel ao ao total dos esforos e poupanas que foram necessri os a fi m de produzi -l o,
e ver-se- ento como esses doi s totai s tendem a se equi l i brar. Assi m, no Li vro Qui nto,
cap. I V; que, de certa forma, uma conti nuao deste cap tul o, veremos esses doi s totai s
se equi l i brando nas previ ses de um Robi nson Crusoe, bem como pel o menos na sua
mai or parte nas previ ses, em di nhei ro, de um homem de negci os moderno. Em ambos
os casos, os doi s l ados da conta devem se referi r mesma data. Os el ementos posteri ores
data fi xada devem ser descontados do total , e os el ementos anteri ores devem ser acu-
mul ados a esse mesmo total .
Pode-se veri fi car que um equi l bri o semel hante, em rel ao aos benef ci os e custos do
capi tal , a pedra de base da economi a soci al , embora seja verdade que, em conseqnci a
da di stri bui o desi gual das ri quezas, no poss vel , do ponto de vi sta soci al , fazer um
cl cul o esquemti co com a mesma cl areza que poss vel obter no caso de um i ndi v duo,
quer se trate de um Robi nson Crusoe ou de um homem de negci os moderno.
Durante toda a nossa di scusso das causas que governam a acumul ao e o emprego dos
recursos da produo, poss vel ver que no h uma regra uni versal de que os mtodos
i ndi retos de produo so mai s efi ci entes do que os di retos; que em al gumas ci rcunstnci as,
os esforos i nvesti dos na obteno de maqui ni smos e no acmul o de capi tai s em vi sta das
necessi dades futuras so, no fi nal das contas, econmi cos, e outras ci rcunstnci as h em
que i sso no acontece; e que o capi tal acumul ado, de um l ado proporci onal mente s
possi bi l i dades do i ndi v duo, e do outro absoro do capi tal por aquel es mtodos i ndi retos
sufi ci entemente produti vos para compensar a sua adoo. Ver Li vro Quarto. Cap. VI I ,
8; Li vro Qui nto. Cap. I V Li vro Sexto. Cap. I , 8 e Li vro Sexto. Cap. VI , 1.
As foras mai s ampl as que governam a produo do capi tal em geral e a sua contri bui o
para a renda naci onal sero estudadas no Li vro Quarto, Cap. VI I , I X e XI . Os ajustamentos
i mperfei tos das medi das monetri as dos benef ci os e custos em rel ao a seu vol ume real ,
sero di scuti dos no Li vro Tercei ro, cap. I I I e V; Li vro Quarto, cap. VI I ; Li vro Sexto, cap.
I I I e VI I I . A parte do produto total do trabal ho e do capi tal , auxi l i ados pel os recursos da
Natureza, que cabe ao capi tal , ser di scuti da no Li vro Sexto, cap. I , I I , VI , VI I I , XI e XI I .
LIVRO TERCEIRO
Sobre as Necessidades e sua Satisfao
CAPTULO I
Introduo
1. As anti gas defi ni es da Economi a descrevi am-na como ci n-
ci a que se ocupa da produo, da di stri bui o, da troca e do consumo
da ri queza. A experi nci a ul teri or mostrou que os probl emas da di s-
tri bui o e da troca so to estrei tamente l i gados, que duvi doso que
al gum encontre vantagem em tentar separ-l os. H contudo um gran-
de nmero de i di as gerai s sobre a rel ao da procura e da oferta,
necessri a como base para os probl emas prti cos do val or, e que atua
como uma espci e de espi nha dorsal , dando uni dade e consi stnci a ao
corpo pri nci pal da teori a econmi ca. Sua ampl i tude e general i dade di -
ferenci am-na dos probl emas mai s concretos da di stri bui o e da troca,
aos quai s el a ti l ; e, por esse moti vo, ser tratada em conjunto no
Li vro V, sobre A Teori a Geral da Procura
106
e da Oferta", que abre
cami nho para Di stri bui o e Troca, ou Val or.
Pri mei ro, porm, deve vi r este Li vro Tercei ro, que consti tui um
estudo das Necessi dades e sua sati sfao, i sto , da procura e do consumo,
e depoi s o Li vro I V, que um estudo dos agentes da produo, i sto , os
agentes por cujo i ntermdi o as necessi dades so sati sfei tas, i ncl ui ndo o
prpri o homem, pri nci pal agente e ni co fi m da produo. O Li vro Quarto,
nas suas l i nhas gerai s, corresponde quel e estudo da produo ao qual
todos os tratados i ngl eses sobre Economi a geral durante as l ti mas ge-
raes dedi caram um l argo espao, embora no tenham dei xado bem cl aras
as suas rel aes com os probl emas da procura e da oferta.
2. At recentemente, a matri a da procura ou do consumo foi
149
106 Ao revermos, agora, a traduo que fi zemos al gumas dcadas atrs, atual i zando, quando
necessri o, a expresso de certos concei tos, preferi mos conti nuar a traduzi r demand por
procura e no demanda, cujo uso est se general i zando. I sso porque procura mai s verncul o
e tem por si a nossa tradi o acadmi ca. Os doi s termos so hoje empregados i ndi feren-
temente, como si nni mos que so, mas di z-se ai nda Lei da oferta e da procura". (N. dos T.)
um tanto descurada. Por mai s i mportante que seja a questo de saber
como devemos i nverter os nossos recursos com o mel hor provei to, no
, pel o menos no que di z respei to aos gastos dos i ndi v duos, uma questo
que se preste aos mtodos da Economi a. O senso comum de uma pessoa
com grande experi nci a da vi da l he dar mel hor ori entao em tal
campo do que o que el a poderi a obter de suti s anl i ses econmi cas, e
at recentemente os economi stas pouco di sseram a respei to, porque
real mente el es nada ti nham a di zer que no fosse do dom ni o comum
de toda a gente de bom senso. Mas, recentemente, vri as causas se
combi naram para dar ao assunto uma i mportnci a mai or nas di scusses
econmi cas.
A pri mei ra del as a convi co crescente do mal causado pel o
hbi to de Ri cardo em dar excessi va i mportnci a ao custo da produo,
quando anal i sava as causas que determi nam o val or da troca. Poi s,
embora el e e seus pri nci pai s segui dores bem soubessem que as condi -
es da procura tm um papel to i mportante como as da oferta na
determi nao do val or, no expressaram contudo o que pretendi am
com sufi ci ente cl areza, e tm si do mal compreendi dos, sal vo pel os l ei -
tores mai s cui dadosos.
Em segundo l ugar, a adoo de mtodos mai s exatos no estudo
da Economi a est dando s pessoas a preocupao de estabel ecerem
ni ti damente as premi ssas sobre as quai s raci oci nam. Esse crescente
cui dado em parte devi do apl i cao por mui tos autores da l i nguagem
matemti ca e de hbi tos matemti cos de pensamento. Cabe pergun-
tar-se se mui to se tem ganho pel o uso de compl exas frmul as mate-
mti cas. Mas a apl i cao de hbi tos matemti cos de raci oc ni o tem
prestado um grande servi o, poi s tem i nduzi do as pessoas a no ten-
tarem resol ver um probl ema antes de defi ni -l o exatamente e no pros-
segui r em seu estudo antes de haver determi nado previ amente aqui l o
que se consi dera admi ss vel .
I sso, por sua vez, compel i u a uma anl i se mai s cui dadosa de
todos os pri nci pai s concei tos da Economi a, e especi al mente da procura;
poi s a si mpl es tentati va de estabel ecer cl aramente como medi r a pro-
cura de uma coi sa descerra novos aspectos dos pri nci pai s probl emas
da Economi a. Embora a teori a da procura esteja ai nda na i nfnci a,
podemos desde j notar a possi bi l i dade de col i gi r e de grupar estat sti cas
de consumo, de forma a l anar l uz sobre questes di f cei s, de grande
i mportnci a para o bem-estar pbl i co.
Fi nal mente, o esp ri to da poca i nduz a uma ateno mai or
questo se a nossa crescente ri queza no pode fazer mai s do que faz
na promoo do bem-estar geral ; e i sto novamente nos l eva a exami nar
at que ponto o val or de troca de qual quer el emento de ri queza, de
uso i ndi vi dual ou col eti vo, representa exatamente o que esta ri queza
acrescenta fel i ci dade e ao bem-estar.
Comearemos este Li vro com um breve estudo da vari edade das
OS ECONOMISTAS
150
necessi dades humanas, consi deradas em rel ao com os esforos e ati -
vi dades do homem, j que a natureza progressi va do homem um
todo. S temporri a e provi sori amente podemos com provei to i sol ar
para estudo a face econmi ca da sua vi da; e devemos cui dar de abranger
numa vi sta de conjunto toda essa face. parti cul armente necessri o
i nsi sti r agora sobre i sto, porque a reao contra o rel ati vo abandono
em que Ri cardo e seus segui dores dei xaram o estudo das necessi dades
mostra si nai s de estar sendo l evada ao extremo oposto. i mportante,
todavi a, reafi rmar a grande verdade a que el es se apegaram, tal vez
com demasi ado excl usi vi smo, a saber: que se bem sejam as necessi dades
que regem a vi da dos ani mai s i nferi ores, para as mudanas na forma
dos esforos e ati vi dades que devemos nos vol tar quando tentamos
i nvesti gar os pri nc pi os fundamentai s de Humani dade.
MARSHALL
151
CAPTULO II
As Necessidades em Relao com as Atividades
1. As necessi dades e os desejos humanos so i nmer os e de
vr i as espci es; mas, ger al mente, so l i mi tados e suscet vei s de se-
r em sati sfei tos. Na ver dade, o homem i nci vi l i zado no tem mai s
necessi dades do que o ani mal , mas, medi da que vai pr ogr edi ndo,
el as aumentam e se di ver si fi cam, ao mesmo tempo que sur gem novos
mtodos capazes de sati sfaz-l as. Passa a desejar no apenas uma
mai or quantidade das coi sas que est acostumado a consumi r , como
tambm deseja que essas coi sas sejam de mel hor qual i dade; deseja
mai or var i edade, bem como coi sas capazes de sati sfazer as novas
necessi dades que vai adqui r i ndo.
Assi m, embora os ani mai s e os sel vagens tenham prefernci a por
determi nados bocados, tanto uns como outros no se preocupam em
vari ar apenas por vari ar. Quando, porm, aumenta o grau de ci vi l i zao
do homem, quando seu esp ri to comea a se desenvol ver e at mesmo
as suas pai xes ani mai s comeam a se associ ar com uma ati vi dade
mental , suas necessi dades tornam-se rapi damente mai s suti s e mai s
di versi fi cadas, e at mesmo nos menores detal hes da vi da el e passa a
desejar a vari edade pel a vari edade, mui to antes de ter fugi do, cons-
ci entemente, do jugo i mposto pel o hbi to. O pri mei ro passo nessa di reo
vem com a arte de produzi r o fogo. O homem vai , gradual mente, se ha-
bi tuando a comi das e bebi das preparadas de manei ras di versas, e dentro
em pouco a monotoni a passa a ser fasti di osa para el e; e se al gum aci dente
o obri gar a vi ver, durante al gum tempo, al i mentando-se excl usi vamente
de um ou doi s ti pos de comi da, consi dera i sso um grande sacri f ci o.
medi da que crescem as posses de um homem, sua comi da e
bebi da tornam-se mai s vari adas e custosas. Seu apeti te, porm, acha-se
l i mi tado pel a natureza, e quando os gastos com a al i mentao ati ngem
propores extravagantes, mai s para atender a desejos de hospi tal i -
dade ou de ostentao, do que para sati sfazer os prpri os senti dos.
I sso nos l eva a constatar, com Seni or, que por mai s forte que
153
seja o desejo de vari edade, el e fraco comparado com o desejo de
di sti no: senti mento que podemos consi derar a mai s poderosa das
pai xes humanas, se l evarmos em conta a sua uni versal i dade, sua
constnci a, e o fato de que afeta a todos os homens, e em todas as
pocas, que vem do bero conosco e jamai s nos dei xa seno no tmul o.
Essa grande semi verdade fi ca bem i l ustrada quando se compara o de-
sejo de escol her e vari ar a al i mentao com o desejo de escol her e
vari ar o vesturi o.
2. A necessi dade de vesti r-se, que o resul tado de causas na-
turai s, vari a com o cl i ma, com a estao do ano, e at certo ponto com
a natureza das ati vi dades i ndi vi duai s. No vesti r, porm, as necessi dades
convenci onai s ul trapassam de mui to as naturai s. Assi m, em mui tas
das etapas pri mi ti vas da ci vi l i zao, as prescri es da Lei e do Costume
estabel eci am ri gi damente o esti l o e a quanti dade a ser despendi da
com a i ndumentri a de cada casta, ou grupo profi ssi onal , padres esses
que deveri am ser al canados mas no ul trapassados. Em parte da sua
substnci a, al gumas dessas prescri es conti nuam a vi gorar, embora
estejam sujei tas a rpi das modi fi caes. Por exempl o, na poca em
que Adam Smi th vi veu, o costume na Escci a admi ti a que mui ta gente
vi ajasse sem sapatos, nem mei as, coi sa que no aconteceri a agora.
Mui ta gente que vi ajava assi m na Escci a no o fari a na I ngl aterra.
Por outro l ado, na I ngl aterra de hoje, um trabal hador que esteja em
boa si tuao fi nancei ra l evado, pel o hbi to, a vesti r-se de preto aos
domi ngos e, em certos l ugares, a usar um chapu de seda, embora h
pouco tempo atrs essa i ndumentri a o expusesse ao ri d cul o. H um
aumento constante na vari edade e na despesa com a i ndumentri a
que o costume exi ge como um m ni mo e no que tol erado como um
mxi mo, e os esforos para di sti ngui r-se pel o vesturi o esto se espa-
l hando nas cl asses i nferi ores da soci edade i ngl esa.
Nas cl asses al tas, porm, embora a i ndumentri a femi nina continue
a ser vari ada e cara, a roupa masculina si mpl es e rel ati vamente barata,
se a compararmos com a que se usava na Europa at pouco tempo atrs,
e que usada hoje no Oriente. I sso porque so os i ndi v duos que possuem
mai or di sti no natural que di tam a moda, e el es sentem uma compreen-
s vel repugnnci a em chamar a ateno pel o vesturi o.
107
OS ECONOMISTAS
154
107 Uma mul her pode exi bi r ri queza, mas se el a o fi zer apenas pel o traje, o efei to ser con-
traproducente. preci so que, ao l ado da ri queza, aparente uma certa di sti no de carter,
poi s, embora o mri to do vesti do tal vez seja mai s da modi sta do que del a, sempre se
presume que, no tendo como o homem que se preocupar com negci os, dedi que mai s tempo
sua i ndumentri a. Al m di sso, com as modas atuai s, estar bem vesti da e no ri -
camente vesti da um i deal mai s modesto, que pode ser ati ngi do por quem deseje
fazer-se notar por bom gosto e habi l i dade, ai nda mai s se vi er a desaparecer o dom ni o dos
capri chos da moda. Saber compor um vesturi o bel o em si mesmo, e ao mesmo tempo
apropri ado ao uso que se vai fazer del e, um al vo di gno dos mai ores esforos. Pertence
mesma cl asse, embora no ao mesmo n vel da execuo de um bom quadro.
3. A casa sati sfaz i mperi osa necessi dade de fornecer um abri go
contra as i ntempri es, porm essa necessi dade no o fator mai s i m-
portante na procura de uma resi dnci a, poi s embora uma cabana pe-
quena e bem constru da fornea um abri go excel ente, sua atmosfera
abafada, a i nevi tvel fal ta de l i mpeza, de comodi dades e de tranqi -
l i dade consti tuem graves i nconveni entes. No se trata tanto do des-
conforto f si co que nel a domi na, como do fato de i mpedi r o desenvol -
vi mento das facul dades humanas, e de l i mi tar as ati vi dades espi ri tuai s
mai s el evadas. medi da que aumentam essas ati vi dades, aumenta
tambm a necessi dade de uma casa mai s espaosa.
108
Por i sso, uma casa rel ati vamente espaosa e bem-posta, consti tui ,
mesmo para as cl asses soci ai s i nferi ores, ao mesmo tempo uma ne-
cessi dade para a efi ci nci a
109
e o modo mai s conveni ente e bvi o de
ostentar di sti no soci al . E ai nda naquel es n vei s soci ai s em que toda
pessoa tem uma moradi a sufi ci ente para suas ati vi dades e as de sua
fam l i a, exi ste, contudo um desejo de mai or e quase i l i mi tada acomo-
dao, como um requi si to para o exerc ci o de mui tas das ati vi dades
soci ai s mai s el evadas.
4. Por outra parte, o desejo de exercer e desenvol ver as prpri as
ati vi dades, que se estende atravs de todas as cl asses soci ai s, conduz no
s ao cul ti vo da cinci a, da l i teratura e da arte pel o que el as em si re-
presentam, mas, tambm, a procura rapi damente crescente dos servi os
daquel es que a el as se dedi cam profi ssi onal mente. O ci o usado cada
di a menos como oportuni dade para mera i nao; e h um crescente desejo
daquel as di straes, como jogos atl ti cos e vi agens, que desenvol vem ati -
vi dades, em vez de comprazer-se em passatempos sensuai s.
110
que o desejo de ati ngi r a perfei o por si mesma tem um papel
quase to i mportante como o desejo i nferi or de se di sti ngui r. Da mesma
manei ra que o desejo de di sti ngui r-se vai em n vel decrescente da
ambi o dos que desejam ver seu nome na boca dos homens de pa ses
di stantes, em pocas remotas, at a ambi o da moci nha da al dei a
que deseja que sua fi ta nova no passe despercebi da dos vi zi nhos,
tambm o desejo de ati ngi r a perfei o por si mesma gradua-se de
Newton a Stradi vari us at ao pescador que, mesmo quando ni ngum
o est observando, e el e no est apressado, se del i ci a em manejar
bem o seu barco, em notar que el e est bem constru do, e que segue
MARSHALL
155
108 verdade que mui tos operri os de esp ri to ati vo preferem uma resi dnci a apertada na
ci dade, a um chal et espaoso no campo; mas i sso porque tm gosto pronunci ado por
um certo gnero de ati vi dade, a que a vi da no campo no oferece nenhuma oportuni dade.
109 Ver Li vro Segundo. Cap. I I I , 3.
110 Como ponto de menor i mportnci a preci so assi nal ar que as bebi das que esti mul am a
ati vi dade i ntel ectual esto substi tui ndo em grande parte as que se l i mi tam a sati sfazer
os senti dos. Aumenta rapi damente o consumo do ch, enquanto o do l cool permanece
estaci onri o e exi ste, em todas as cl asses da soci edade, uma di mi nui o da procura dos
ti pos mai s grossei ros e mai s embrutecedores de l cool .
prontamente a di reo que se l he i mpri me. Desejos dessa espci e exer-
cem uma grande i nfl unci a na oferta das facul dades mai s el evadas e
das mai ores i nvenes, e no dei xam de ter tambm i mportnci a no
que se refere procura. Nas profi sses que exi gem grande habi l i dade,
e nas mai s di f cei s tarefas de mecni co, grande parte da procura do
trabal ho provm, na real i dade, do prazer que os i ndi v duos tm em
educar suas facul dades, e em exerc-l as com a ajuda de i nstrumentos
perfei tamente ajustados e sens vei s.
Portanto, fal ando de manei ra geral , embora sejam as necessi dades
do homem que, nos pri mei ros estgi os da ci vi l i zao, provocam o desen-
vol vi mento de sua ati vi dade, nos estgi os mai s el evados todo o progresso
devi do a ati vi dades novas, que susci tam novas necessi dades, e no a
novas necessi dades que tenham susci tado novas ati vi dades.
I sso se v cl aramente se dei xarmos de consi derar condi es sa-
l ubres de vi da, em que novas ati vi dades se desenvol vem constante-
mente, e passarmos a observar o negro das ndi as Oci dentai s, que
uti l i za a l i berdade e a ri queza recm-adqui ri da, no para obter os
mei os de sati sfazer novas necessi dades, mas numa estagnao oci osa,
que no consti tui um descanso; ou se observarmos a parte das cl asses
trabal hadoras i ngl esas, cujo nmero di mi nui progressi vamente, que
no possui nem ambi o nem orgul ho, nem prazer com o desenvol vi -
mento de suas facul dades e ati vi dades, e que gasta em bebi da as sobras
de um sal ri o que mal basta para atender s necessi dades de uma
vi da mi servel .
Portanto, no verdade que a teori a do consumo seja a base
ci ent fi ca da Economi a,
111
poi s mui to do que de i nteresse pri mordi al
na teori a das necessi dades pertence teori a dos esforos e ati vi dades.
As duas teori as se compl ementam; uma i ncompl eta sem a outra.
Mas se uma del as pudesse ser consi derada, mai s do que a outra, sendo
a i ntrprete da hi stri a do homem, tanto do ponto de vi sta econmi co
como de outro qual quer, seri a antes a teori a das ati vi dades e no a
teori a das necessi dades. McCul l och i ndi cou a verdadei ra rel ao que
h entre el as quando, ao di scuti r a natureza progressi sta do homem,
112
di sse: A sati sfao de uma necessi dade ou de um desejo no mai s
OS ECONOMISTAS
156
111 Essa doutri na foi expressa por Banfi el d, e Jevons a adotou como base de sua teori a. de
l amentar que aqui , como em outros l ugares, o prazer que Jevons tem de expri mi r suas
i di as de manei ra to veemente o tenha l evado a uma concl uso que no apenas i nexata,
mas tambm faz com que se suponha, erroneamente, que os economi stas cl ssi cos se en-
ganaram sobre esse ponto mai s profundamente do que foi na real i dade. Banfi el d di sse: A
pri mei ra proposi o da teori a do consumo que a sati sfao de uma necessi dade de ordem
menos el evada d ori gem a um desejo de carter mai s el evado. E se i sso fosse verdadei ro,
a doutri na anteri or, em que el e se basei a nessa proposi o, seri a tambm certa. Mas, como
Jevons observa (Theory. 2 edi o, p. 59), el a fal sa; e Jevons a substi tui pel o enunci ado
de que a sati sfao de uma necessi dade menos el evada permi te que uma necessi dade mai s
el evada se mani feste. I sso certo e consti tui de fato uma proposi o i dnti ca mas no d
nenhum fundamento supremaci a da Teori a do Consumo.
112 Political Economy. Cap. I I .
do que um passo em di reo a uma nova necessi dade. Em todos os
estgi os do seu desenvol vi mento o homem est desti nado a cri ar, a
i nventar e a se dedi car a novos empreendi mentos, e assi m que estes
tenham si do real i zados, a se l anar a outros com energi as renovadas.
Da se segue que o estudo da procura, que i mposs vel fazer
nesta etapa de nossa obra, deve l i mi tar-se a uma anl i se el ementar
de natureza quase puramente formal . O estudo mai s avanado do con-
sumo deve vi r depoi s, e no antes, da parte pri nci pal da anl i se eco-
nmi ca e, embora esse estudo possa ter seu comeo dentro do prpri o
campo da Economi a, no pode termi nar nel e, poi s que deve estender-se
mai s al m.
113
MARSHALL
157
113 A cl assi fi cao das necessi dades no um trabal ho desti tu do de i nteresse, mas desne-
cessri o aos nossos fi ns. A base da mai ori a das obras recentes a esse respei to acha-se em
Staatswirthschaftliche Untersuchungen, de Hermann, cap. I I , onde as necessi dades so
cl assi fi cadas como absol utas e rel ati vas, superi ores e i nferi ores, urgentes e adi vei s, po-
si ti vas e negati vas, di retas e i ndi retas, gerai s e parti cul ares, constantes e i ntermi tentes,
permanentes e temporri as, ordi nri as e extraordi nri as, presentes e futuras, i ndi vi duai s
e col eti vas, pbl i cas e parti cul ares.
Al gumas anl i ses de necessi dades e desejos encontram-se na grande mai ori a dos tratados
de Economi a franceses e de outros pa ses do Conti nente europeu, mesmo os da l ti ma
gerao; mas os r gi dos l i mi tes que os autores i ngl eses fi xaram para a ci nci a excl u ram
del a tai s di scusses. E um fato caracter sti co o de Bentham, no seu Manual of Political
Economy, no fazer nenhuma al uso a esses estudos, embora a profunda anl i se que del es
fez nos Principles of Morals and Legislation e na Table of the Springs of Human Action
tenha exerci do uma i nfl unci a extensa. Hermann estudara Bentham; por outro l ado, Ban-
fi el d, cujas aul as foram tal vez as pri mei ras dadas numa uni versi dade i ngl esa que tenham
sofri do a i nfl unci a di reta do pensamento econmi co al emo, reconhece que mui to deve a
Hermann. Na I ngl aterra o cami nho para a excel ente obra de Jevons sobre a teori a das
necessi dades havi a si do preparado pel o prpri o Bentham, por Seni or cujas l i gei ras ob-
servaes sobre o assunto esto chei as de i di as sugesti vas , por Banfi el d e pel o austral i ano
Hearn. A Plutology or Theory of the Efforts to satisfy Human Wants de Hearn , ao mesmo
tempo, si mpl es e profunda; oferece um exempl o admi rvel da manei ra pel a qual uma
anl i se mi nuci osa pode se tornar uma aprendi zagem de pri mei ra ordem para os moos,
dando-l hes um conheci mento i ntel i gente das condi es econmi cas da vi da, sem l hes i mpor
nenhuma sol uo parti cul ar dos probl emas mai s di f cei s, sobre os quai s ai nda no se en-
contram aptos a formar uma opi ni o i ndependente. Quase na mesma ocasi o em que apa-
receu a Theory de Jevons, Carl Menger deu um grande i mpul so aos suti s e i nteressantes
estudos das necessi dades e uti l i dades pel a Escol a austr aca de economi stas; estudos que
havi am si do i ni ci ados por Von Thnen, como i ndi cado no Prefci o desta obra.
CAPTULO III
Gradaes da Procura por Consumidores
1. Quando um comerci ante ou um industri al compra alguma coisa
para uti l i zar na produo ou ser novamente vendi da, sua procura baseada
na previ so dos l ucros que el e pode auferi r com i sso. Esses l ucros dependem
a qual quer tempo dos ri scos especul ati vos e de outras causas que preci saro
ser consi deradas mai s tarde. Mas, a l ongo prazo, o preo que um negoci ante
ou um i ndustri al pode oferecer em pagamento de uma coi sa depende dos
preos que os consumi dores pagaro por el a ou pel as coi sas fei tas com a
ajuda da mesma. O regulador l ti mo de toda a procura , portanto, a
procura dos consumidores. E dessa procura que nos ocuparemos, quase
excl usi vamente, no presente l i vro.
Uti l i dade ti da como correl ati va de desejo ou necessi dade. J
se argumentou que os desejos no podem ser medi dos di retamente,
mas s i ndi retamente pel os fenmenos externos a que do l ugar, e
que nos casos que i nteressam pri nci pal mente Economi a, a medi da
se encontra no preo que uma pessoa se di spe a pagar pel o cumpri -
mento ou sati sfao do seu desejo. El a pode ter desejos e aspi raes
que no esto desti nados consci entemente a serem sati sfei tos mas,
agora, nos ocuparemos daquel es que vi sam a esse objeti vo, e pressu-
pomos que a sati sfao resul tante corresponde em geral perfei tamente
bem que foi previ sta quando a compra foi fei ta.
114
159
114 No ser demai s i nsi sti r que medi r di retamente, ou per se, seja os desejos ou a sati sfao
resul tante do cumpri mento del es, i mposs vel , seno i nconceb vel . Se pudssemos, ter amos
duas contas a fazer: uma dos desejos, outra das sati sfaes veri fi cadas. E as duas podi am
di feri r consi deravel mente. Poi s, para no fal ar das mai s al tas aspi raes, certos desses
desejos com os quai s a Economi a se ocupa pri nci pal mente, em especi al os rel aci onamentos
com a emul ao, so i mpul si vos; mui tos resul tam da fora do hbi to; al guns so mrbi dos
e l evam somente a mal es; e mui tos se basei am em expectati vas que nunca se cumprem.(Ver
aci ma, Li vro Pri mei ro. Cap. I I , 3 e 4.) Natural mente mui tas sati sfaes no so prazeres
comuns, mas pertencem ao desenvol vi mento da natureza mai s el evada do homem, ou, para
usar uma vel ha expresso, sua beati tude, e al gumas podem mesmo resul tar em parte
da abnegao prpri a. (Ver Li vro Pri mei ro. Cap. I I , 1). As duas medi das di retas ento
H uma vari edade i nfi ni ta de necessi dades, mas h um l i mi te
para cada necessi dade em separado. Essa tendnci a comum e funda-
mental da natureza humana pode expressar-se na lei das necessidades
sociveis
115
ou da utilidade decrescente, assi m: A utilidade total de uma
coi sa para al gum (i sto , o prazer total ou outro benef ci o que el a l he
proporci ona) cresce a cada aumento que se veri fi ca na quanti dade que
el e di spe dessa coi sa mas no to depressa quanto aumenta o seu
estoque. Se a sua di sponi bi l i dade da coi sa aumenta numa taxa uni -
forme, o benef ci o deri vado del a aumenta numa taxa decrescente. Em
outras pal avras, o benef ci o adi ci onal que al gum extrai de um dado
aumento da sua di sponi bi l i dade de uma coi sa, di mi nui a cada aumento
da quanti dade que el e j possui .
A quanti dade da coi sa at a qual el e l evado a compr-l a pode
ser chamada sua compra marginal (marginal purchase) porque justa-
mente marca a margem de dvi da sobre se vantagem i ncorrer no
di spndi o requeri do para adqui ri -l a. E a uti l i dade da sua compra mar-
gi nal pode denomi nar-se a utilidade marginal da coi sa para el e. Ora,
se em vez de compr-l a, el e prpri o a fabri ca, ento sua utilidade
marginal aquel a uti l i dade da parte que el e pensa justamente val er
a pena fabri car. Assi m, poi s, a referi da l ei pode ser enunci ada da se-
gui nte forma:
A uti l i dade margi nal de uma coi sa para um i ndi v duo di mi nui
a cada aumento da quanti dade que el e j possui dessa coi sa.
116
H, porm, uma condi o i mpl ci ta nessa l ei , que deve ser escl a-
reci da: preci so dar por admi ti do que o tempo no h de produzi r
nenhuma al terao no carter ou gosto da pessoa. No consti tui , por-
tanto, uma exceo l ei de que quanto mel hor msi ca ouvi r, mai s
forte se tornar o gosto por el a; que a avareza e a ambi o sejam
freqentemente i nsaci vei s; nem que a vi rtude da l i mpeza e o v ci o
da embri aguez aumentam i gual mente medi da que se prati cam. Poi s
em tai s casos nossa observao se estende a certo per odo de tempo,
e a pessoa no a mesma no comeo e no fi m desse per odo. Se tomamos
OS ECONOMISTAS
160
podem di feri r. Mas como nenhuma del as poss vel , ca mos na medi da que a Economi a fornece
do moti vo, ou fora motora da ao: e a fazemos servi r, com todas as suas fal has, tanto para
os desejos que provocam ati vi dades, como para as sati sfaes que resul tam del as. (Confronte
PI GOU, prof. Some remarks on Utility, I n: Economic J ournal. Maro de 1903.)
115 Tambm chamada de saturao das necessi dades, ou da saci edade. (N. dos T.)
116 Tal l ei mantm uma posi o pri mordi al sobre a l ei do rendimento decrescente da terra,
embora esta tenha pri ori dade no tempo, uma vez que foi a pri mei ra a ser submeti da a
uma ri gorosa anl i se de carter semi matemti co. E se por anteci pao tomamos al guns
dos seus termos, podemos di zer que o rendimento do prazer que uma pessoa ti ra de cada
dose adi ci onal de uma mercadori a di mi nui at ati ngi r uma margem a parti r da qual no
mai s vantagem adqui ri -l a. O termo utilidade marginal (Grenz-nutz) foi usado pel a pri mei ra
vez neste senti do pel o austr aco Wi eser. Foi adotado pel o prof. Wi cksteed. Corresponde ao
termo Final usado por Jevons, a quem Wi eser expressa seu reconheci mento no prefci o
(p. xxi i i da edi o i ngl esa). A l i sta que el e apresenta dos precursores de sua doutri na
encabeada por Gossen, 1854.
um homem como el e , sem admi ti r que houve tempo para al guma mudana
no seu carter, a util i dade marginal de uma coi sa para ele di mi nui regu-
l armente com todo aumento da quantidade de que ele di spe.
117
2. Traduzamos agora essa l ei da uti l i dade decrescente em termos
de preo. Tomemos, por exempl o, uma mercadori a como o ch, em
constante procura e que pode ser comprada em pequenas quanti dades.
Suponhamos, assi m, que se possa ter ch de uma certa qual i dade a 2
xel i ns por l i bra. Uma pessoa pode estar mai s di sposta a dar 10 xel i ns
por uma ni ca l i bra s uma vez por ano do que a passar sempre sem
el e, enquanto, se puder obt-l o em qual quer quanti dade gratui tamente,
no cui dari a tal vez de uti l i zar mai s de 30 l i bras num ano. Mas, ao
preo que est, compra cerca de 10 l i bras anual mente. Quer i sto di zer
que a di ferena de sati sfao entre comprar 9 l i bras ou 10 l i bras
bastante para faz-l a di sposta a pagar 2 xel i ns pel a di ferena, enquanto
o fato de no comprar mai s uma, a undci ma l i bra, mostra que no
l he val e a pena despender com o ch mai s 2 xel i ns. Ou seja, 2 xel i ns
por uma l i bra mede a uti l i dade do ch para essa pessoa no l i mi te,
margem, termo ou fi m de suas compras: mede a uti l i dade margi nal
para el a. Se o preo que el a est deci di da a pagar para obter uma
l i bra se denomi na seu preo de procura, ento 2 xel i ns o seu preo
de procura marginal. E nossa l ei pode ser assi m expressa:
Quanto mai or for a quanti dade de uma coi sa que uma pessoa
possui , tanto menor ser, no se al terando as outras condi es (i sto
, o poder aqui si ti vo do di nhei ro e a quanti dade di spon vel do mesmo),
o preo que el a pagar por um pouco mai s da coi sa; ou, em outras
pal avras, seu preo de procura margi nal para a coi sa decresce.
Sua procura se torna efi ci ente somente quando o preo que se di spe
a oferecer al cana aquel e pel o qual outros esto di spostos a vender.
Essa l ti ma sentena nos l embra que temos at agora l evado em
conta as al teraes na uti l i dade margi nal do di nhei ro ou poder aqui -
si ti vo geral . Num mesmo momento, no se al terando os recursos ma-
MARSHALL
161
117 Pode ser notado aqui , embora o fato tenha pouca i mportnci a prti ca, que uma pequena
quanti dade de uma mercadori a pode ser i nsufi ci ente para sati sfazer uma certa necessi dade
em parti cul ar; haver ento um aumento mai s do que proporci onal do prazer quando o
consumi dor obtm o bastante para atender ao fi m desejado. Assi m, por exempl o, el e ti rari a
menor prazer proporci onal mente de dez fol has de papel de parede do que de vi nte fol has,
se estas dessem para cobri r toda a parede de seu quarto, e a pri mei ra quanti dade fosse
i nsufi ci ente para i sso. Ou ai nda, um concerto mui to curto ou um feri ado pode fal har no
seu propsi to de del ei tar ou di strai r: e um de durao dupl a pode ser de uti l i dade total
mai s do que dupl a. Esse caso corresponde ao fato, que estudaremos em rel ao com a
tendnci a ao rendi mento decrescente, de que o capi tal e o trabal ho j apl i cados numa
poro de terra podem ser to i nsufi ci entes para o desenvol vi mento da sua i ntei ra capa-
ci dade, que uma despesa ul teri or, mesmo nas condi es da arte agr col a exi stente, dari a
um rendi mento mai s do que proporci onal . E no fato de poder um progresso nas artes da
agri cul tura opor-se a essa tendnci a, encontraremos uma anal ogi a com a condi o men-
ci onada no texto como i mpl ci ta na l ei da uti l i dade decrescente.
teri ai s de uma pessoa, a uti l i dade margi nal do di nhei ro para el a
uma quanti dade fi xa, de sorte que os preos que el a se deci da a pagar
por duas mercadori as esto, um em rel ao ao outro, na mesma razo
da uti l i dade das duas mercadori as.
3. Uma uti l i dade mai or ser necessri a para i nduzi r um pobre
a comprar uma coi sa do que a necessri a para i nduzi r um ri co a faz-l o.
Vi mos como um empregado de 100 l i bras por ano i r a p para o
trabal ho sob uma chuva mai s forte mai s vezes do que o fari a um
empregado de 300 l i bras.
118
Contudo, embora a uti l i dade ou o benef ci o
que na mente do homem pobre medi da por 2 pence seja mai or do
que a que medi da pel a mesma quanti a no esp ri to do homem ri co,
e mesmo que o mai s ri co tome um txi cem vezes num ano e o pobre
vi nte vezes, a uti l i dade da centsi ma vez do ri co se mede para el e em
2 pence, e a uti l i dade da vi gsi ma corri da a que se deci di u o pobre
medi da para este tambm por 2 pence. Para cada um del es a uti l i dade
margi nal medi da por 2 pence, mas esta uti l i dade margi nal mai or
no caso do pobre que no do ri co.
Em outras pal avras, quanto mai s ri co um homem se torna, menor
a uti l i dade margi nal do di nhei ro para el e. Cada aumento nos seus
recursos aumenta o preo que se di spe a pagar por um certo benef ci o.
E, da mesma manei ra, cada di mi nui o dos seus recursos aumenta a
uti l i dade margi nal do di nhei ro para el e e reduz o preo que el e se
di spe a pagar por um benef ci o.
4. Para ter um conheci mento compl eto da procura de al guma
coi sa, devemos averi guar que quanti dade del a uma pessoa se di spe
a comprar a cada um dos preos pel os quai s pode ser ofereci da; e as
ci rcunstnci as da sua procura de ch, por exempl o, pode ser mel hor
expressa por uma l i sta de preos que el a se di spe a pagar, i sto , por
seus vri os preos de procura por di ferentes pores de ch. (Essa l i sta
pode-se chamar sua tabela de procura.)
Assi m, por exempl o, podemos constatar que el a comprari a
6 l i bras a 50 pence por l i bra
7 " 40 "
8 " 33 "
9 " 28 "
10 " 24 "
11 " 21 "
12 " 19 "
13 " 17 "
Se esti vessem i ndi cados preos correspondentes a todas as quan-
OS ECONOMISTAS
162
118 Ver Li vro Pri mei ro, Cap. I I , 2.
ti dades i ntermedi ri as, ter amos uma expresso exata da sua procu-
ra.
119
No podemos expressar a procura de uma coi sa por uma pessoa,
pel a quanti dade que el a se di spe a comprar, ou pel a i ntensi dade
da sua avi dez de comprar uma certa quanti dade, sem refernci a aos
preos pel os quai s el a comprari a esta ou aquel a quanti dade. I sso s
podemos representar exatamente pel as l i stas dos preos pel os quai s
el a se di spori a a comprar di ferentes quanti dades.
120
MARSHALL
163
119 Tal tabel a de procura pode ser traduzi da, num processo que entrou agora em uso comum,
numa curva que pode ser chamada curva de procura. Tracemos duas l i nhas Ox e Oy, uma
hori zontal , a outra verti cal . Suponhamos que 1 pol egada de Ox representa 10 l i bras de
ch, e 1 pol egada de Oy representa 40 pence.
Dci mos de Quadragsi mo de
1 pol egada 1 pol egada Fi g. 1
tomemos Om1 = 6 e tracemos m1p1 = 50
Om2 = 7 " " m2p2 = 40
Om3 = 8 " " m3p3 = 33
Om4 = 9 " " m4p4 = 28
Om5 = 10 " " m5p5 = 24
Om6 = 11 " " m6p6 = 21
Om7 = 12 " " m7p7 = 17
Om8 = 13 " " m8p8 = 17
Estando m1 sobre Ox, e sendo traada m1p1 verti cal mente a parti r de m1 e assi m por
di ante. Ento, p1 p2... p8 so pontos da sua curva de procura de ch; ou, como podemos
di zer, pontos de procura. Se pudssemos, da mesma manei ra, encontrar os pontos de procura
para toda a poss vel quanti dade de ch, poder amos obter toda a cont nua curva DD como
est na fi gura. Essa apresentao da tabel a e da curva da procura provi sri a; al gumas
di fi cul dades em torno del a so adi adas para o cap. V.
120 Assi m, di z Mi l l que devemos entender pel a pal avra procura a quanti dade procurada, e l embrar
que no esta uma quanti dade fi xa, mas que em geral vari a de acordo com o val or. (Principles.
I I I , i i , 4.) Esta frmul a ci ent fi ca em substnci a, mas no est cl aramente expressa, e tem
si do mal compreendi da. Cai rnes prefere apresentar a procura como o desejo de mercadori as
e de servi os que se procura ati ngi r por um ofereci mento de poder aqui si ti vo geral , e a oferta
como o desejo de obter poder aqui si ti vo geral medi ante o ofereci mento de mercadori as e servi os
espec fi cos. El e prefere esta frmul a a fi m de poder fal ar de uma razo, ou i gual dade, entre
a procura e a oferta. Mas as quanti dades dos doi s desejos de parte de duas pessoas di versas
no podem ser comparadas di retamente; suas medi das se podem comparar, no porm el as
prpri as. De fato, o mesmo Cai rnes l evado a di zer que a oferta l i mi tada pel as quanti dades
de mercadori as espec fi cas ofereci das venda, e a procura pel a quanti dade de poder aqui si ti vo
ofereci do para a sua compra. Mas os vendedores no tm uma quanti dade fi xa de mercadori as
que ofeream venda i ncondi ci onal mente, a qual quer preo, que possam obter; os compradores
no tm uma quanti dade fi xa de poder aqui si ti vo que estejam prontos a gastar em mercadori as
espec fi cas, no i mportando quanto tenham que pagar por el as. preci so ento l evar em
conta, em um e outro caso, a rel ao entre quanti dade e preo, de sorte a compl etar a proposi o
de Cai rnes, com o que se vol ta ao cami nho segui do por Mi l l . O mesmo Cai rnes di z, na verdade,
que a Procura, tal como defi ni da por Mi l l , se deve entender como medi da, no como a mi nha
defi ni o exi gi ri a, pel a quanti dade de poder aqui si ti vo ofereci do para atender ao desejo de
mercadori as, mas pel a quanti dade de mercadori as pel a qual tal poder de compra ofereci do.
verdade que h uma grande di ferena entre as frases Eu comprarei uma dzi a de ovos,
e Eu comprarei 1 xel i m de ovos. Mas no h di ferena substanci al entre a frase Eu comprarei
doze ovos a 1 pni cada, mas s sei s a 1 1/2 pni cada, e esta outra, Eu gastarei 1 xel i m
em ovos a 1 pni cada, mas se el es custaram 1 1/2 pni cada, gastarei 9 pence com el es. Mas
enquanto a frmul a de Cai rnes, compl etada, se torna substanci al mente a mesma de Mi l l , sua
forma presente ai nda mai s suscet vel de i nduzi r a erro. (Ver um arti go do Autor sobre Mi l l s
Theory of Val ue. I n: Fortnightly Review. Abri l de 1876.)
Quando di zemos que a procura de uma coi sa por uma pessoa
aumenta, queremos di zer que el a comprar mai s que dantes ao mesmo
preo, e que comprar tanto quanto anteri ormente a um preo mai s
el evado. Um aumento geral na procura um aumento da l i sta i ntei ra
de preos pel os quai s el a se di spe a comprar di ferentes quanti dades
da coi sa, e no si gni fi ca apenas que el a est pronta a comprar mai s
aos preos correntes.
121
5. At aqui encar amos a pr ocur a por par te de um ni co
i ndi v duo. No caso par ti cul ar de uma coi sa como o ch, a pr ocur a
de uma ni ca pessoa r epr esenta mui to bem a pr ocur a total de todo
um mer cado: poi s a pr ocur a do ch uma pr ocur a constante; e
desde que pode ser compr ado em pequenas quanti dades, cada va-
r i ao em seu pr eo suscet vel de afetar a quanti dade em que um
i ndi v duo o compr ar . Mesmo entr e as coi sas de uso constante, po-
r m, h mui tas cuja pr ocur a de par te de al gum i ndi v duo si ngul ar
no pode var i ar conti nuamente com qual quer pequena al ter ao no
pr eo, mas pode var i ar apenas por gr andes sal tos. Por exempl o,
uma pequena queda no pr eo de chapus ou de r el gi os no afetar
a ati tude de todo o mundo, mas i nduzi r umas poucas pessoas, que
estavam em dvi da se compr avam ou no um novo chapu ou um
novo r el gi o, no senti do de faz-l o.
H mui tas cl asses de coi sas cuja pr ocur a por par te de um
i ndi v duo i nconstante, capr i chosa e i r r egul ar . No pode haver
l i sta de pr eos de pr ocur a i ndi vi dual par a bol os nupci ai s, ou par a
ser vi os de um r eputado ci r ur gi o. Mas o economi sta pouco se
ocupa com i nci dentes par ti cul ar es na vi da dos i ndi v duos. Em
vez di sso, el e estuda as aes que, sob cer tas condi es, podem
ser esper adas dos membr os de um gr upo i ndustr i al , na medi da
em que os mvei s dessas aes sejam mensur vei s por um pr eo
em di nhei r o; e nesses r esul tados ger ai s a var i edade e a i ncons-
tnci a da ao i ndi vi dual esto i mer sos no agr egado r el ati vamen-
te r egul ar da ao de mui tos.
Em gr andes mer cados, ento onde o r i co e o pobr e, o vel ho
e o moo, homens e mul her es, pessoas de todas as var i edades de
gostos, temper amentos e ocupaes so confundi das no conjunto ,
as pecul i ar i dades nas necessi dades i ndi vi duai s se compensam umas
s outr as, r esul tando numa var i ao compar ati vamente r egul ar da
pr ocur a total . Toda bai xa, mesmo l i gei r a, no pr eo de uma mer ca-
OS ECONOMISTAS
164
121 Podemos chamar a i sto, al gumas vezes com vantagem, uma elevao da sua tabela de
procura. Geometri camente representa-se pel a el evao da sua curva de procura, ou, o que
d no mesmo, movendo-a para a di rei ta, com tal vez al guma modi fi cao de sua forma.
dori a de uso geral , aumentar, no vari ando as outras condi es, o
total das vendas da mesma, tal como um outono i nsal ubre aumenta
a mortal i dade de uma grande ci dade, embora mui tas pessoas no so-
fram com el e. Se, portanto, ti vssemos as i nformaes necessri as, po-
der amos l evantar uma l i sta de preos pel os quai s cada quanti dade
de uma mercadori a achari a compradores num determi nado l ugar, no
curso, di gamos, de um ano.
A procura total de ch, por exempl o, num determi nado l ugar,
a soma das procuras i ndi vi duai s de todos os que nel e vi vem. Al guns
sero mai s ri cos, outros mai s pobres do que o consumi dor i ndi vi dual
cuja procura vi mos de estudar; em al guns o gosto pel o ch ser mai or,
em outros menor que o del e. Suponhamos que h no l ugar um mi l ho
de compradores de ch, e que o consumo mdi o i gual ao del e para
cada preo. Ento, a procura desse l ugar representada pel a mesma
l i sta de preos que vi mos antes e escrevemos um mi l ho de l i bras de
ch em vez de uma l i bra.
122
Exi ste, poi s, uma lei geral da procura: Quanto mai or a quanti dade
a ser vendi da, menor deve ser o preo pel o qual el a ofereci da, a fi m
de que possa achar compradores; ou, em outras pal avras, a quanti dade
procurada aumenta com a bai xa, e di mi nui com a al ta do preo. No
haver uma rel ao uni forme entre a bai xa do preo e o aumento da
procura. Uma queda de um dci mo no preo pode aumentar as vendas
de um vi gsi mo ou de um quarto, ou dobr-l as. Mas, medi da que os
nmeros da col una esquerda da tabel a da procura aumentam, os da
col una da di rei ta di mi nui ro sempre.
123
MARSHALL
165
122 A procura representada pel a mesma curva precedente, sal vo que uma pol egada de Ox
agora representa 10 mi l hes de l i bras em vez de 10 l i bras. Uma defi ni o da curva da
procura para um mercado pode ser assi m formul ada: A curva de procura de qual quer
mercadori a num mercado, durante uma dada uni dade de tempo, o l ugar geomtri co dos
pontos de procura da mesma. Ou seja, uma curva tal que, se de qual quer ponto P tomado
nel a, uma l i nha reta PM traada perpendi cul armente a Ox, PM representa o preo pel o
qual os compradores se apresentaro para comprar uma quanti dade da mercadori a repre-
sentada por OM.
Fig. 2
123 I sto , se um ponto se move ao l ongo da curva afastando-se de Oy, el e se aproxi mar
constantemente de Ox. Portanto, se for traada uma reta PT tocando a curva em P e
encontrando Ox em T, o ngul o PTx um ngul o obtuso. Ser conveni ente expri mi r abre-
vi adamente este fato: podemos faz-l o di zendo que PT inclinado negativamente. Assi m,
O preo medi r a uti l i dade margi nal de uma mercadori a para
cada comprador i ndi vi dual mente: no podemos di zer que o preo mede
a uti l i dade margi nal em geral , porque as necessi dades e as ci rcuns-
tnci as das di ferentes pessoas so di ferentes.
6. Os pr eos de pr ocur a em nossa l i sta so aquel es pel os
quai s as di ver sas quanti dades de uma coi sa podem ser vendi das
num mer cado durante um tempo dado e sob condies dadas. Se as
condi es de al guma sor te var i am, os pr eos pr ovavel mente dever o
sofr er uma al ter ao; e i sso tem que ser fei to constantemente quando
o desejo de al guma coi sa mater i al mente al ter ado por uma var i ao
de costume ou pel o supr i mento bar ato de uma mer cador i a concor -
r ente, ou pel a i nveno de uma nova. Por exempl o, a l i sta de pr eos
de pr ocur a de ch estabel eci da na suposi o de que o pr eo do
caf conheci do, mas uma queda da safr a do caf far subi r os
pr eos do ch. A pr ocur a de gs suscet vel de di mi nui r em vi rtude
de um mel hor amento da ener gi a el tr i ca; e, do mesmo modo, uma
bai xa no pr eo de uma espci e par ti cul ar de ch pode fazer com
que el e seja substi tu do por uma var i edade i nfer i or , por m mai s
bar ata.
124
Nosso pr xi mo passo ser consi der ar o car ter ger al da pr o-
OS ECONOMISTAS
166
a ni ca l ei uni versal qual se subordi na a curva da procura que inclinada negativamente
em toda a sua extenso. Deve ser natural mente entendi do que a l ei da procura no se
apl i ca procura numa l uta entre grupos de especul adores. Um grupo que deseja descarregar
uma grande quanti dade de uma coi sa no mercado, freqentemente comea por comprar
um pouco del a abertamente. Quando el e faz subi r, assi m, o preo da coi sa, arranja vender
uma grande parte di scretamente, e atravs de canai s no costumei ros. Ver um arti go do
prof. Taussi g no Quarterly J ournal of Economics (Mai o, 1921, p. 402).
124 mesmo conceb vel , embora no pr ovvel , que uma bai xa si mul tnea e pr oporci onal
no pr eo de todos os chs possa di mi nui r a pr ocur a de cer ta qual i dade em par ti cul ar.
I sso acontece se aquel es que so l evados pel o cr escente barateamento do ch a consumi r
uma qual i dade superi or em l ugar daquel a, so mai s numerosos do que os que foram
l evados a tomar essa qual i dade par ti cul ar em substi tui o a uma qual i dade i nfer i or.
A questo de saber onde devem ser traadas as l i nhas de di vi so entr e as di ferentes
mercador i as deve obedecer conveni nci a de cada caso em par ti cul ar. Par a cer tos fi ns,
pode ser mel hor consi der ar os chs chi neses e i ndi anos, ou mesmo os chs de Souchong
e Pekoe, como mer cadori as di ferentes, e ter uma tabel a de pr ocur a separada para cada
um del es, enquanto, para outr os propsi tos, pode ser mel hor gr upar mer cadori as to
di ferentes como car ne de vaca e car ne de carnei r o, ou mesmo como ch e caf, e ter
uma ni ca l i sta para r epresentar a procura das duas juntas; mas, num caso como este,
natural mente, al guma conveno se deve estabel ecer quanto ao nmer o de onas de
ch tomadas como equi val entes a uma l i br a de caf. Do mesmo modo, uma mercador i a
pode ser pr ocur ada si mul taneamente para usos di ver sos (por exempl o, pode haver uma
pr ocur a composta de couro par a sapatos e mal as). A procura de uma coi sa pode ser
condi ci onada oferta de uma outra sem a qual a pr i mei r a no prestari a mui to ser vi o
(assi m pode haver uma procura conjunta de al godo em r ama e mo-de-obr a de fi an-
dei r os). Tambm a pr ocur a de uma mer cadori a de parte de compradores que s a com-
pr am par a revend-l a em segui da, mesmo governada pel a procura do l ti mo e mai s
bai xo consumi dor , tem par ti cul ari dades especi ai s. Mas todos esses pontos ser o mel hor
di scuti dos adi ante.
cur a nos casos de cer tas mer cador i as i mpor tantes, pr ontas par a con-
sumo i medi ato. Conti nuar emos assi m o estudo fei to no cap tul o pr e-
cedente quanto var i edade e saci abi l i dade das necessi dades, mas
o tr atar emos de um ponto de vi sta al go di fer ente, o das estat sti cas
de pr eo.
125
MARSHALL
167
125 Uma grande mudana operou-se nas formas do pensamento econmi co durante a gerao
precedente, pel a adoo geral de l i nguagem semi matemti ca para expri mi r a rel ao entre
pequenos aumentos de quanti dade de uma mercadori a de um l ado, e de outro pequenos
aumentos de preo total pago por el a; e tambm pel a formal compreenso destes pequenos
aumentos de preo como medi da de pequenos aumentos correspondentes de prazer. O
pri mei ro e o mai s i mportante passo foi dado por COURNOT. Recherches sur les Principes
Mathmatiques de la Thorie des Richesses. 1838; o segui nte por DUPUI T. De l a Mesure
dUti l i t des Travaux Publ i cs. I n: Annales des Ponts et Chausses. 1844, e por GOSSEN.
Entwickelung der Gesetze des menschlichen Verkehrs. 1854. Mas seus trabal hos foram es-
queci dos e uma parte do que estava fei to foi depoi s refei ta e publ i cada quase si mul tanea-
mente por Jevons e por Carl Menger, em 1871, e por Wal ras pouco mai s tarde; Jevons
atrai u quase de repente a opi ni o pbl i ca por sua bri l hante l uci dez e seu esti l o i nteressante.
El e empregou a nova expresso utilidade final engenhosamente, de modo a habi l i tar mesmo
pessoas que nada sabi am da ci nci a matemti ca a ter i di as cl aras das rel aes gerai s
entre as pequenas vari aes de duas coi sas que se esto al terando gradual mente, uma em
conexo com a outra. Seu sucesso foi ajudado at pel os seus defei tos. Na convi co si ncera
em que estava de que Ri cardo e seus segui dores, na exposi o das causas que determi nam
o val or, erraram i rremedi avel mente, dei xando de i nsi sti r sobre a l ei da saci edade das
necessi dades, el e l evou mui tos a pensar que havi a corri gi do grandes erros; embora, na
real i dade, apenas ti vesse aduzi do al gumas expl anaes i mportantes. El e fez um excel ente
trabal ho i nsi sti ndo no fato, que no de menor i mportnci a, embora seus predecessores,
mesmo Cournot, o jul gassem por demai s bvi o para ser expressamente menci onado, a
saber, que a di mi nui o na procura de uma coi sa num mercado i ndi ca uma di mi nui o na
i ntensi dade do desejo del a por parte dos consumi dores i ndi vi duai s, cujas necessi dades esto
se tornando saci adas. Mas el e l evou mui tos dos seus l ei tores a uma confuso entre os
dom ni os do Hedon sti co e do Econmi co, pel o exagero de apl i cao de suas frases favori tas,
e por di zer (Theory. 2 edi o, p. 105) sem preci so que o preo de uma coi sa mede sua
uti l i dade fi nal no s para um i ndi v duo, o que pode ser, mas tambm para um grupo de
comrci o (a trading body), o que no pode ser. Poder-se-i a acrescentar que o prof. Sel i gman
mostrou (Economic J ournal. 1903. p. 356-363) que numa confernci a h mui to pronunci ada
em Oxford, em 1833, o prof. W. F. Ll oyd anteci pou mui tas das i di as centrai s da presente
doutri na da uti l i dade. Uma excel ente bi bl i ografi a da Economi a Matemti ca dada pel o
prof. Fi scher, num apndi ce traduo que Bacon fez da Recherches de Cournot, qual
o l ei tor pode se di ri gi r para ter um apanhado com mai s detal hes das mai s anti gas obras
matemti cas sobre a Economi a, assi m como das de Edgeworth, Pareto, Wi cksteed, Auspi tz,
Li eben e outros. A Economia Pura, de Pantal eoni , no mei o de matri a ti ma, pel a pri mei ra
vez torna geral mente acess vei s as demonstraes ori gi nai s e vi gorosas, embora al go abs-
tratas, de Gossen.
CAPTULO IV
A Elasticidade das Necessidades
1. Vi mos que a ni ca l ei geral que rege o desejo de se ter
determi nada mercadori a, a que di z que esse desejo di mi nui medi da
que aumenta a quanti dade dessa mercadori a de que se pode di spor,
desde que as demai s ci rcunstnci as no se al terem. Essa di mi nui o,
porm, pode ser rpi da ou l enta. Se a di mi nui o for l enta, o preo
que se paga pel a mercadori a em questo no cai r mui to em conse-
qnci a de um grande aumento da quanti dade dessa mercadori a, ao
passo que uma pequena di mi nui o nos preos provocar um aumento
rel ati vamente el evado na quanti dade adqui ri da. Mas se essa di mi nui -
o for rpi da, uma pequena queda de preo provocar apenas uma
pequena el evao na quanti dade adqui ri da. No pri mei ro caso, o desejo
de adqui ri r a coi sa aumenta mui to di ante de um est mul o m ni mo:
podemos di zer que a el asti ci dade das necessi dades grande. No segundo
caso, a nova oportuni dade proporci onada pel a queda do preo no pro-
voca grande aumento no desejo de comprar a mercadori a: a el asti ci dade
da procura pequena. Se a queda do preo do ch, de, di gamos, 16
para 15 pence por l i bra, aumentasse de mui to a quanti dade adqui ri da,
um aumento no preo de 15 para 16 pence di mi nui ri a de mui to essa
quanti dade. I sso si gni fi ca que, se a procura for el sti ca para uma queda
no preo, tambm o ser para uma el evao desse preo.
O que acontece com uma ni ca pessoa, acontece tambm com todo
o mercado. Podemos di zer, de manei ra geral , que a elasticidade (ou re-
ceptividade) da procura num mercado forte ou fraca, conforme a quan-
ti dade procurada aumente mui to ou pouco, dada uma certa bai xa no preo,
e di mi nua mui to ou pouco, dada uma certa el evao de preo.
126
169
126 Podemos di zer que a el asti ci dade da procura i gual a 1 se uma pequena queda de preos
provocar um aumento proporci onal mente i gual na quanti dade procurada; ou, para fal ar
de modo geral , se a uma di mi nui o de 1% no preo, as vendas aumentarem de 1% que
a el asti ci dade de 2 ou de 1/2, se a uma di mi nui o de 1% no preo, as vendas aumentarem
2. Um preo que, para um homem pobre, to el evado a ponto
de ser quase proi bi ti vo, pouco afetar a um homem ri co. Por exempl o,
um homem pobre nunca bebe vi nho, ao passo que um ri co pode beber
quanto vi nho desejar, sem pensar no preo do que est bebendo. Para
termos, portanto, uma noo bem cl ara da el asti ci dade do mercado,
preci samos estudar separadamente as di ferentes cl asses de consumi -
dores. Natural mente h, entre os ri cos, vri os graus de ri queza, como
entre os pobres di versos graus de pobreza; mas essas subdi vi ses de
menor i mportnci a podem, no momento, ser postas de l ado.
Quando o preo de uma coi sa rel ati vamente mui to al to para
uma determi nada cl asse, essa cl asse no comprar essa coi sa e, em
al guns casos, o hbi to pode fazer com que conti nue a no compr-l a,
mesmo depoi s de ter o preo di mi nu do mui to. Pode tambm acontecer
que essa coi sa fi que posta de l ado para ser usada em ocasi es especi ai s,
em caso de doena, por exempl o. Esses casos, embora sejam freqentes,
no consti tuem a regra geral e, de qual quer modo, desde que a coi sa
passe a ser usada habi tual mente, uma queda consi dervel no preo
provocar grande aumento na procura. A el asti ci dade da procura
grande para preos el evados e tambm grande, ou pel o menos consi -
dervel , para os preos mdi os, mas tende a di mi nui r medi da que
os preos caem, e vai desaparecendo gradual mente se a bai xa dos preos
chega a al canar o n vel da saci edade.
Essa regra parece apl i car-se a quase todas as mercadori as, bem
como a procura em todas as cl asses da soci edade, com a ni ca restri o
de que o ponto em que termi nam os preos al tos e comeam os bai xos
OS ECONOMISTAS
170
de 2% ou de 1/2%, respecti vamente, e assi m por di ante. (Essa afi rmao s aproxi mada,
porque 98 no est para 100 na mesma proporo que 100 para 102.) A el asti ci dade da
procura pode ser i ndi cada sobre a curva da procura, com o aux l i o da segui nte regra:
traa-se uma l i nha reta que toque a curva em um ponto qual quer P, e que corte Ox no
ponto T e Oy no ponto t; ento a medida da elasticidade no ponto P ser a relao entre
PT e Pt. Se PT for i gual a duas vezes Pt, uma bai xa de preos de 1% acarretar um
aumento de 2% da quanti dade procurada, e a el asti ci dade da procura ser i gual a 2.
Se PT for i gual a 1/3 de Pt, uma bai xa de preo de 1% acarretar um aumento na procura
de 1/3%, e a el asti ci dade do preo ser de 1/3%, e assi m por di ante. Outra manei ra de
chegar ao mesmo resul tado a segui nte: a el asti ci dade do ponto P medi da pel a rel ao
entre PT e Pt, ou seja, pel a rel ao entre MT e MO (porquanto PM perpendi cul ar a
OM); por conseqnci a, a elasticidade da procura igual a 1 quando o ngulo TPM for
igual ao ngulo OPM; e aumenta sempre que o ngulo TPM aumentar em relao ao ngulo
OPM e vice-versa.
di ferente para cl asses di ferentes, e, da mesma manei ra, vari a o n vel
em que termi nam os preos bai xos e comeam os preos mui to bai xos.
H, no entanto, mui ta vari edade nos detal hes, proveni ente pri nci pal -
mente do fato de haver mercadori as das quai s o consumi dor se saci a
com faci l i dade, ao passo que outras pri nci pal mente os objetos de
ostentao as pessoas desejam de uma manei ra quase i l i mi tada.
Neste l ti mo caso, a el asti ci dade de procura conti nua a ser consi dervel
por mai s que o preo bai xe, enquanto no pri mei ro caso a procura perde
quase toda a el asti ci dade, desde que se ati nja um preo que possa ser
consi derado bai xo.
127
MARSHALL
171
127 Tomemos como exempl o a procura de ervi l has numa ci dade em que todos os l egumes sejam
transportados para um ni co mercado e nel e vendi dos. No i n ci o da estao, haver tal vez
100 l i bras-peso de ervi l has por di a, e o preo ser de 1 xel i m por l i bra-peso; mai s tarde,
chegaro 500 l i bras por di a, que sero vendi das ao preo de 6 pence; depoi s 1 000, vendi das
a 4 pence, 5 mi l , vendi das a 2 pence e 10 mi l , vendi das a 1 1/2 pence.
Fi g. 4
A procura representada na fi g. 4, uma pol egada de Ox representando 5 mi l l i bras e uma
pol egada de Oy representando 10 pence. Assi m, uma curva que passe pel os pontos p1, p2...
p5, col ocados como a fi gura i ndi ca, seri a a curva da procura total . Mas a procura total
consti tu da pel a soma da procura das cl asses ri cas, remedi adas e pobres. As quanti dades
que cada uma dessas cl asses procura poderi am ser representadas pel o quadro segui nte:
Esses dados so apresentados sob forma de curvas nas trs fi guras que se seguem, 5, 6 e
7, que i ndi cam a procura nas cl asses ri cas, mdi as e pobres, representadas na mesma
escal a que na fi g. 4.
3. H certas mercadori as cujos preos correntes, na I ngl aterra,
so rel ati vamente bai xos mesmo para as cl asses mai s pobres. o caso,
por exempl o, do sal , de vri as espci es de i ngredi entes e condi mentos,
e tambm de remdi os de consumo corrente. No parece pl aus vel que
uma queda no preo desses arti gos acarrete um aumento consi dervel
do seu consumo.
Os preos correntes da carne, l ei te, mantei ga, l , fumo, frutas
i mportadas e atendi mento mdi co comum so tai s que a toda vari ao
do preo corresponde uma grande al terao no seu consumo pel as cl as-
ses trabal hadoras e pel as bai xas cl asses mdi as, ao passo que a cl asse
ri ca no al tera a quanti dade que consome, por mai s baratas que se
tornem. Em outras pal avras, a procura di reta dessas mercadori as
mui to el sti ca por parte das cl asses trabal hadoras e das bai xas cl asses
mdi as, mas o mesmo no acontece em rel ao s cl asses ri cas. A
cl asse trabal hadora, porm, to numerosa que a quanti dade por el a
consumi da das mercadori as cujo preo est a seu al cance mui to mai s
el evada que a consumi da pel a cl asse ri ca e, portanto, a procura conjunta
de todas essas coi sas mui to el sti ca. At pouco tempo atrs o acar
pertenci a a esse ti po de mercadori as, mas, na I ngl aterra, seu preo
cai u a ponto de ser consi derado bai xo at mesmo pel as cl asses traba-
l hadoras, e a procura do acar no , conseqentemente, el sti ca.
128
OS ECONOMISTAS
172
Fi g. 5 Fi g. 6 Fi g. 7
Assi m AH, BK e CL representam o preo de 2 pence e tm 0,2 de pol egada de compri mento;
OH = 0,16 de pol egada e representa 800 l i bras; OK = 0,5 de pol egadas e representa 2 500
l i bras, e OL = 0,34 de pol egada e representa 1 700 l i bras. OH + OK + OL = 1 pol egada,
i sto , = Om4 na fi gura 4. I sso serve de exempl o da manei ra pel a qual vri as curvas de
procura parci al , traadas numa mesma escal a, podem ser superpostas hori zontal mente,
para formar a curva da procura total que represente a soma das procuras parci ai s.
128 No entanto, devemo-nos l embrar que o carter da tabel a da procura de qual quer mercadori a
depende, em grande parte, dos preos de suas ri vai s serem fi xos ou vari arem com o del a.
Se separarmos a procura de carne de vaca da procura de carne de carnei ro, e supusermos
que o preo desta l ti ma permanece estvel enquanto o preo da carne de vaca se el eva,
veri fi caremos que a procura de carne de vaca se torna extremamente el sti ca. Poi s qual quer
queda no preo da carne de vaca fari a com que el a fosse usada ampl amente em l ugar da
carne de carnei ro, e assi m acarretari a um grande aumento de consumo. Por outro l ado,
um pequeno aumento de preo fari a com que mui ta gente passasse a comer carne de
carnei ro, abandonando quase que compl etamente a carne de vaca. Mas se tomarmos a
tabel a da procura de todas as espci es de carne em conjunto, e supusermos que os preos
mantenham entre si uma rel ao constante, e que no di fi ram mui to dos que so cobrados
agora na I ngl aterra, veri fi caremos que essa procura tem uma el asti ci dade moderada. Ob-
servaes semel hantes apl i cam-se ao acar de beterraba e ao de cana.
O preo corrente de frutas raras, do pei xe de mel hor qual i dade,
e de outros arti gos de l uxo moderadamente caros, de tal ordem que
o seu consumo, pel a cl asse mdi a, aumenta mui to com qual quer di mi -
nui o de preo. Em outras pal avras, a procura dessas mercadori as
pel a cl asse mdi a mui to el sti ca, ao passo que essa mesma procura
por parte da cl asse abastada e da cl asse pobre mui to menos el sti ca,
no pri mei ro caso por ter quase ati ngi do o l i mi te de saci edade, e no
segundo porque o preo permanece al to demai s para el a.
Os preos correntes de coi sas tai s como vi nhos raros, frutas fora da
estao e assi stncia de mdi cos e advogados cl ebres so to al tos que
a procura del es fei ta quase excl usi vamente pel a cl asse ri ca. Essa procura,
porm, tem freqentemente grande el asti ci dade. Parte da procura de pro-
dutos al i ment ci os de preo el evado , na real i dade, uma procura de mei os
de di sti ngui r-se soci al mente, e como tal quase i nsacivel .
129
4. O caso dos arti gos de pri mei ra necessi dade um caso ex-
cepci onal . Quando o preo do tri go est mui to el evado, assi m como
quando est excessi vamente bai xo, a procura tem pouca el asti ci dade;
pri nci pal mente se consi derarmos que o tri go, mesmo quando escasso,
o al i mento mai s barato e que, mesmo quando em abundnci a, no
tem nenhuma outra uti l i dade. Sabemos que uma bai xa no preo do
po de 6 para 4 pence quase no i nfl ui sobre o aumento do seu consumo.
Em rel ao ao outro extremo da escal a mai s di f ci l fal ar com certeza,
porquanto no houve na I ngl aterra nada que se assemel hasse a uma
escassez de po, desde a revogao das Corn Laws.
130
Mas, aprovei tando
a experi nci a de uma poca menos fel i z que a nossa, podemos supor
que uma di mi nui o de 1, 2, 3, 4 ou 5 dci mos na oferta acarretari a
uma al ta de preo de 3, 8, 16, 28 ou 45 dci mos, respecti vamente.
131
MARSHALL
173
129 Ver o cap tul o I I , 1. Em abri l de 1894, por exempl o, foram vendi dos em Londres sei s
ovos de tarambol a, os pri mei ros da estao, ao preo de 10 pence e 6 xel i ns cada um. No
di a segui nte, aumentou o nmero del es e o preo passou a ser de 5 xel i ns; no tercei ro di a
o preo j estava a 3 xel i ns e na semana segui nte era de 4 pence.
130 Legi sl ao proteci oni sta de restri o i mportao de cereai s em geral e especi al mente
tri go, de i nteresse dos grandes propri etri os rurai s cuja i nfl unci a predomi nava no Parl a-
mento i ngl s. A pri mei ra de uma sri e de l ei s e atos admi ni strati vos data de 1804, a que
se segui ram modi fi caes em 1815, 1828 e 1842. Seus efei tos cal ami tosos escassez e
encareci mento de al i mentos bsi cos da popul ao, pri nci pal mente po, de que resul tavam,
peri odi camente, penri a e mesmo fome general i zada provocaram crescente agi tao
pol ti ca; e quando ao cl amor popul ar juntou-se a oposi o da I ndstri a, j ento i nfl uente,
a l egi sl ao foi defi ni ti vamente revogada em 1846 (contra o voto, i ncl usi ve, de Di srael i ).
Corn para os anti gos economi stas cl ssi cos i ngl eses si gni fi cava, em s ntese, o produto
agr col a em geral , como l embra o prpri o Marshal l e seu preo era um referenci al do sal ri o
m ni mo do trabal hador. Atual mente, nos pa ses angl ofni cos em geral , i ncl usi ve nos Estados
Uni dos, a pal avra quer di zer mi l ho; na I ngl aterra, porm, emprega-se para cereal em geral
e tri go em parti cul ar, embora este l ti mo tenha um termo prpri o (wheat), ao passo que
na Escci a e I rl anda avei a. (N. dos T.)
131 Essa aval i ao geral mente atri bu da a Gregory Ki ng. Sua contri bui o l ei da procura
foi admi ravel mente estudada por Lord Lauderdal e (I nquiry. p. 51-3). Est representada
na fi gura 8 pel a curva DD, em que o ponto A corresponde ao preo corrente. Se ti vermos
em conta o fato de que, quando o preo do tri go est mui to bai xo, el e pode ser uti l i zado,
como se fez em 1834, para a al i mentao do gado, dos carnei ros e porcos, bem como para
a desti l ari a, a parte i nferi or da curva tomari a uma forma mui to semel hante da l i nha
Vari aes de preo mui to mai ores do que estas j sucederam na rea-
l i dade. Assi m, em 1335, o tri go era vendi do em Londres a 10 xel i ns o
bushel, e no ano segui nte o preo era de 10 pence.
132
Pode haver mesmo vari aes mai s vi ol entas do que essas no preo
de um arti go que no seja de pri mei ra necessi dade, se se tratar de
um arti go perec vel , ou cuja procura seja i nel sti ca; por exempl o, o
pei xe pode estar mui to caro num certo di a, e doi s ou trs di as depoi s
ser vendi do para adubo.
A gua uma das poucas coi sas cujo consumo podemos observar
a todos os preos, desde o mai s al to at chegar a no custar nada. A
preos moderados, a sua procura mui to el sti ca, mas os usos que se
l he pode dar so suscet vei s de serem compl etamente sati sfei tos, e,
medi da que o seu preo bai xe a zero, a sua procura perde a el asti ci dade.
Quase a mesma coi sa pode ser di ta a respei to do sal . O preo do sal ,
na I ngl aterra, to bai xo que a sua procura, como produto al i ment ci o,
mui to pouco el sti ca; na ndi a, porm, o preo rel ati vamente al to
e a procura rel ati vamente el sti ca.
O preo da habi tao, por outro l ado, nunca cai u mui to, a no ser
quando uma l ocal i dade abandonada pelos seus habitantes. Sempre que
as condi es sani tri as da soci edade so boas, e no h nenhum empecilho
prosperi dade geral , parece exi sti r uma procura el stica de habitao,
devi do tanto a conveni ncias reais como di sti no soci al que a sua posse
proporci ona. O desejo para aquel as cl asses de roupas que no so usadas
com propsi to de ostentao so saci veis: quando seu preo bai xo a
sua procura quase que no tem el asti ci dade al guma.
A procura de arti gos de al ta qual i dade depende mui to da sensi -
bi l i dade i ndi vi dual : h quem no se i ncomode com o sabor do vi nho,
desde que possa tom-l o em grande quanti dade, ao passo que outros
OS ECONOMISTAS
174
ponti l hada que h na fi gura. E se supusermos que, quando o preo mui to al to, poss vel
obter sucedneos a preo menos el evado, a parte superi or da curva tomari a uma forma
mui to semel hante da l i nha ponti l hada da fi gura.
Fi g. 8
132 Chronicon Preciosum (A. D. 1745), di z que o preo do tri go em Londres esteve bai xo, a
ponto de ser 2 xel i ns a quarta (cerca de 1,131), em 1336; e que, em Lei cester, o tri go foi
vendi do num sbado a 40 xel i ns, e na sexta-fei ra segui nte a 14 xel i ns.
exi gem uma al ta qual i dade, mas se saci am rapi damente. Nos bai rros
operri os vendem-se, quase ao mesmo preo, a carne de pri mei ra e de
segunda qual i dade; no entanto, no norte da I ngl aterra, al guns artesos
bem pagos desenvol veram o gosto pel a carne de mel hor qual i dade, e
pagam por el a um preo quase to el evado quanto o da zona oeste da
ci dade de Londres, onde o preo se mantm arti fi ci al mente el evado,
pel a necessi dade de envi ar para outras l ocal i dades a carne de segunda
qual i dade. O uso tambm d l ugar a que se adqui ram gostos e se
mani festem averses. As i l ustraes que tornam um l i vro atraente para
mui tos l ei tores desagradam a outros que j esto fami l i ari zados com
mel hores obras. Uma pessoa dotada de sensi bi l i dade musi cal el evada
evi tar os maus concertos, desde que resi da numa grande ci dade, mas
seri a capaz de ouvi -l os caso resi di sse numa ci dade pequena, onde no
fosse poss vel ouvi r bons concertos, por no haver um nmero sufi ci ente
de pessoas di spostas a pagar os el evados preos exi gi dos para cobri r seus
gastos. A procura efeti va de msi ca fi na s el sti ca nas grandes ci dades,
ao passo que a procura de msi ca de segunda ordem el sti ca, tanto
nas ci dades grandes como nas pequenas.
De modo geral , as coi sas que tm uma procura mui to el sti ca
so aquel as suscet vei s de terem apl i caes di versas. A gua, por exem-
pl o, uti l i zada em pri mei ro l ugar como bebi da, depoi s para cozi nhar,
para l avar etc. Quando no h propri amente uma seca, mas a gua
vendi da em bal des, o preo pode ser sufi ci entemente bai xo para que
at as cl asses menos favoreci das possam beber tanto quanto desejem,
embora uti l i zem duas vezes a mesma gua na cozi nha e a uti l i zem
com parci mni a na l avagem de roupa. As cl asses mdi as tal vez no
uti l i zem duas vezes a gua para cozi nhar, mas faro com que o bal de
de gua desti nado l avagem de roupa seja aprovei tado com mui to
mai s cui dado do que seri a o caso se houvesse gua em abundnci a.
Quando a gua di stri bu da em canos, e o preo por metro cbi co
mui to bai xo, mui ta gente usa, at para a l avagem de roupa, tanta
gua quanto qui ser; quando a gua no cobrada por metro, mas por
uma taxa anual fi xa, e poss vel obt-l a em todo l ugar onde for ne-
cessri a, uti l i za-se a gua at saci edade para todos os fi ns.
133
MARSHALL
175
133 Assi m, a procura geral de uma coi sa tal como gua, por parte de uma pessoa, a soma
(ou agregado, ver Li vro Qui nto. Cap. VI , 3) da sua procura para cada um dos usos que
a gua pode ter, da mesma manei ra que a procura por parte de um grupo de pessoas de
di ferentes graus de ri queza, de uma mercadori a que s si rva a um fi m, a soma das
procuras de cada um dos membros do grupo. Da mesma forma que a procura dos ri cos em
rel ao a ervi l has consi dervel , mesmo quando o preo destas el evado, mas perde a
sua el asti ci dade a um preo que ai nda al to para a cl asse pobre, tambm a procura
i ndi vi dual de gua para beber consi dervel mesmo a um preo mui to el evado, mas perde
toda a el asti ci dade a um preo que ai nda al to rel ati vamente procura da gua para a
l i mpeza da casa. O total da procura de ervi l ha por parte de um certo nmero de pessoas
de cl asses di ferentes, conserva sua el asti ci dade por mui to mai s tempo que a procura por
parte de uma s pessoa; da mesma forma, a procura da gua por parte de uma pessoa
para seus di ferentes usos conserva a sua el asti ci dade por mui to mai s tempo que a procura
da gua para um ni co fi m. Ver arti go de CLARK, J. B. A Uni versal Law of Economi c
Vari ati on, no Harvard J ournal of Economics. v. I I I .
Por outr o l ado, a pr ocur a , de manei r a ger al , mui to i ne-
l sti ca, em pr i mei r o l ugar par a os ar ti gos de absol uta necessi dade
(que se di sti nguem das coi sas necessr i as convenci onal mente e
daquel as necessr i as efi ci nci a), e em segundo l ugar par a aque-
l es objetos de l uxo que os r i cos consomem sem gastar mui to de
seus r endi mentos.
5. At agora no tomamos em consi derao as di fi cul dades
exi stentes para obter l i stas exatas de preos da procura, e para i nter-
pret-l as corretamente. A pri mei ra di fi cul dade a consi derar provm do
el emento tempo, que a fonte de mui tas das mai ores di fi cul dades
em Economi a.
Uma rel ao dos preos de procura representa as modi fi caes
de preo de uma mercadori a, devi do s vari aes das quanti dades ofe-
reci das venda em i gual dade de outras ci rcunstnci as. No entanto,
raramente estas ci rcunstnci as permanecem i nal teradas durante o pe-
r odo de tempo necessri o para reuni r estat sti cas compl etas e fi de-
di gnas. Ocorrem sempre causas perturbadoras, cujos efei tos so con-
fundi dos com os da causa parti cul ar que desejamos estudar, sem que
seja poss vel separ-l os uns dos outros. Essa di fi cul dade ai nda agra-
vada porque, em Economi a, raro que uma causa produza todos os
efei tos de uma s vez e comum que estes persi stam mui to depoi s de
a causa ter desapareci do.
assi m, por exempl o, que o poder aqui si ti vo do di nhei ro est
sempre se modi fi cando, e tornando necessri a uma correo dos resul -
tados obti dos no pressuposto de que a moeda conserva o seu val or
estvel . No entanto, pode-se ul trapassar essa di fi cul dade, porquanto
poss vel constatar, com sufi ci ente exati do, as modi fi caes i mpor-
tantes que se processam no poder aqui si ti vo do di nhei ro.
H, depoi s, modi fi caes na prosperi dade, e no poder aqui si ti vo
total di sposi o da soci edade, tomada em conjunto. A i nfl unci a dessas
modi fi caes mui to i mportante, mas tal vez o seja menos do que se
supe geral mente, poi s quando a onda de prosperi dade decl i na, os pre-
os caem, e i sto aumenta os recursos de todos aquel es que tm uma
renda fi xa a expensas daquel es cujas rendas dependem de l ucros co-
merci ai s. Os movi mentos de depresso so medi dos popul armente, qua-
se que excl usi vamente pel as perdas mani festas dessa l ti ma cl asse,
mas as estat sti cas do consumo total de mercadori as como ch, o acar,
a mantei ga, a l etc., provam que o total do poder aqui si ti vo do povo
no cai , enquanto i sso, com grande rapi dez. No entanto, essa queda
exi ste, e para que el a seja l evada em conta necessri o preci s-l a
comparando os preos e a quanti dade consumi da do mai or nmero de
coi sas poss vel .
OS ECONOMISTAS
176
Vm em segui da as modi fi caes ocasi onadas pel o cresci mento
gradual da popul ao e da ri queza. Em rel ao a estas fci l uma
correo
134
numri ca, desde que os fatos sejam conheci dos.
6. preci so tambm tomar em consi derao as vari aes da
moda, dos gostos e dos hbi tos,
135
a descoberta de novas manei ras de
uti l i zar uma mercadori a, e a descoberta, mel hori a ou barateamento
de arti gos uti l i zvei s como sucedneos. Em todos estes casos di f ci l
consi derar o tempo que decorre entre a causa econmi ca e seu efei to,
poi s preci so um certo espao de tempo para que os consumi dores se
fami l i ari zem com os sucedneos de determi nadas mercadori as, e para
que os fornecedores fabri quem o novo produto em quanti dade sufi ci ente.
Tambm se preci sa de tempo para fami l i ari dade com os novos produtos,
e para descobri r processos de economi z-l os.
Por exempl o, quando a madei ra e o carvo vegetal se tornaram
caros na I ngl aterra, o hbi to de usar o carvo de pedra como combus-
t vel cresceu l entamente, as l arei ras foram pouco a pouco adaptadas
ao emprego de carvo de pedra, e foi tambm l entamente que se or-
gani zou um comrci o desse carvo, mesmo em regi es para onde podi a
faci l mente ser transportado por gua. A i nveno de um processo capaz
MARSHALL
177
134 Quando um quadro estat sti co mostra o aumento gradual do consumo de uma mercadori a
durante uma l onga sri e de anos, podemos querer comparar a percentagem de aumento
nos di versos anos. I sso pode ser fei to faci l mente, com al guma prti ca. Mas quando os
nmeros vm i ndi cados sob a forma de um di agrama estat sti co, i sso no pode ser fei to
faci l mente sem que se transforme o di agrama em nmeros. Ei s o moti vo pel o qual mui tos
estat sti cos se decl aram contra o mtodo grfi co. Mas acabari am por se mani festar em
favor desse mtodo grfi co, para o caso presente, graas ao conheci mento de uma regra
extremamente si mpl es, e que a segui nte: Suponhamos que a quanti dade consumi da de
uma mercadori a (ou a quanti dade vendi da ou o i mposto pago) seja medi da pel as l i nhas
hori zontai s, paral el as a Ox, ao passo que os anos correspondentes sejam, segundo o mtodo
habi tual , i ndi cados em ordem descendente, a i gual di stnci a, ao l ongo de Oy. Para medi r
a taxa de aumento num ponto qual quer P, col oque-se uma rgua que toque a curva em
P. Suponhamos que el a encontra Oy em t, e que N seja o ponto que se encontra sobre Oy
na mesma al tura verti cal que P; ento, o nmero de anos contados sobre Oy no i nterval o
Nt o i nverso da frao que i ndi ca a taxa de cresci mento anual . Quer di zer que, se NT
compreende vi nte anos, a quanti dade aumenta razo de 1/20, ou seja, razo de 5% ao
ano. Se Nt compreende vi nte e ci nco anos, o aumento anual de 1/25, ou seja 4% anual mente,
e assi m por di ante. Ver um estudo do autor da presente obra no nmero de jubi l eu do
J ournal of the London Statistical Society, de junho de 1885.
Fi g. 9
135 Para exempl o da i nfl unci a da moda, ver os arti gos de Mi ss Fol ey, no Economic J ournal,
v. I I I , e de Mi ss Heather Bi gg, no Nineteenth Century, v. XXI I I .
de permi ti r a uti l i zao desse carvo nas manufaturas foi mai s vagarosa
ai nda, e na ver dade no se acha ai nda ter mi nada. Da mesma for ma,
quando o pr eo do car vo de pedr a se el evou, h al guns anos, houve
um gr ande est mul o par a a i nveno de mei os de economi z-l o, pr i n-
ci pal mente na pr oduo de fer r o e do vapor ; essas i nvenes, por m,
s consegui r am tor nar -se pr ati cvei s depoi s que a al ta dos pr eos
j ti nha passado. I gual mente, quando se i naugur a uma nova l i nha
de bondes ou uma estr ada de fer r o subur bana, mesmo os que mor am
per to da l i nha no se habi tuam l ogo a uti l i z-l a; e decor r e mui to
tempo antes que as pessoas que tm suas casas comer ci ai s em um
dos extr emos da l i nha se mudem e fi quem per to do outr o extr emo.
Assi m, tambm, quando o petr l eo se tor nou abundante, poucas pes-
soas passar am a us-l o com fr eqnci a: s pouco a pouco o petr l eo
e as l mpadas a petr l eo se tor nar am fami l i ar es em todas as cl asses
soci ai s. Por tanto, se consi der ssemos a bai xa de pr eos r esponsvel
excl usi va pel o aumento do consumo, estar amos exager ando a sua
i nfl unci a.
Outra di fi cul dade do mesmo gnero provm do fato de haver
al gumas aqui si es que podem faci l mente ser adi adas por al gum tempo,
mas no por um l ongo espao de tempo. geral mente o caso de roupas
e de outros objetos que se gastam gradual mente, e que, sob presso
de uma al ta nos preos, podem ser uti l i zados mai s tempo do que de
costume. Por exempl o, no i n ci o da grande escassez do al godo obser-
vou-se que o consumo do al godo era mui to pequeno na I ngl aterra.
I sso era moti vado parci al mente pel o fato de terem os vareji stas di mi -
nu do seu estoque, mas pri nci pal mente porque o povo fez com que
durasse o mai s poss vel tudo quanto possu a em al godo. Em 1864,
no entanto, mui tos no puderam esperar mai s, e a quanti dade de al -
godo i mportada durante esse ano para o consumo do pa s foi mui to
mai or, embora o preo esti vesse mai s el evado do que em todos os anos
precedentes. Para as mercadori as dessa espci e, uma escassez repen-
ti na no faz com que os preos aumentem i medi atamente at o n vel
que corresponde verdadei ramente di mi nui o da oferta. Da mesma
forma, depoi s da grande depresso comerci al que teve l ugar em 1873,
nos Estados Uni dos, notou-se que a i ndstri a de cal ados reani mou-se
antes que a de arti gos para vesturi o, porque h sempre em reserva
uma grande quanti dade de chapus e roupas que, nas pocas de pros-
peri dade, so postos de l ado com pouco uso, o mesmo no acontecendo
com os cal ados.
7. As di fi cul dades aci ma so fundamentai s. H outras, porm,
que se referem si mpl esmente a erros, mai s ou menos i nevi tvei s, das
nossas fontes estat sti cas.
OS ECONOMISTAS
178
Desejamos obter, se poss vel , uma sri e de preos aos quai s di -
ferentes quanti dades de mercadori as podem encontrar compradores,
num tempo dado e num determi nado mercado. Um mercado perfei to
uma regi o, grande ou pequena, onde h um certo nmero de com-
pradores e de vendedores, todos to bem i nformados em rel ao aos
negci os dos outros que o preo de qual quer mercadori a prati camente
o mesmo em toda a regi o. Mas, i ndependentemente do fato de que
nem sempre esto a par das modi fi caes que se podem produzi r no
mercado os que compram para o seu prpri o consumo e no para co-
merci ar, em mui tas transaes no h mei o de se constatar exatamente
quai s foram os preos pagos. Al m di sso, raro que os l i mi tes geogr-
fi cos de um mercado estejam traados ri gorosamente a no ser quando
a l i nha de demarcao o mar ou quando h barrei ras al fandegri as.
Por fi m, nenhum pa s possui estat sti cas exatas das mercadori as nel e
produzi das para consumo i nterno.
Al m di sso, mesmo quando poss vel obter dados estat sti cos,
h sempre nel es al go de amb guo. As estat sti cas i ndi cam geral mente
como mercadori as entradas para consumo todas as que passem pel as
mos dos vareji stas; dessa manei ra, um aumento de estoque dos co-
merci antes poder ser confundi do com um aumento de consumo. Ora,
esses doi s aumentos so moti vados por causas di versas. Um aumento
de preos tende a di mi nui r o consumo; mas, se se supe que o aumento
conti nue, provvel que, como j se observou, os comerci antes tendam
a aumentar os seus estoques.
136
Por fi m, di f ci l afi r mar que as mer cador i as em questo sejam
sempr e da mesma qual i dade. Depoi s de um ver o seco o tr i go que
exi ste de qual i dade excepci onal , e os pr eos do ano que se segui r
a essa col hei ta par ecem ser mai s el evados do que na r eal i dade o
so. poss vel tomar em consi der ao este fato, especi al mente agor a
que o tr i go seco da Cal i fr ni a pode ser tomado como exempl o. Mas
quase i mposs vel tomar na devi da consi der ao as di fer enas de
qual i dade de um gr ande nmer o de mer cador i as manufatur adas.
Esta di fi cul dade sur ge mesmo em pr odutos como ch: a substi tui o,
fei ta r ecentemente, do ch chi ns, mai s fr aco, pel o ch mai s for te,
MARSHALL
179
136 Ao exami nar os efei tos dos i mpostos tem-se o hbi to de comparar as quanti dades entradas
para consumo, antes e depoi s do estabel eci mento do i mposto. Mas i sso no exato. Os
vareji stas, prevendo o i mposto, aumentam mui to os seus estoques antes que o i mposto
seja l anado, e durante al gum tempo no preci sam comprar mui to. E o contrri o se d
quando al gum i mposto di mi nui . Al m di sso, i mpostos el evados conduzem a fal sos resul tados.
Por exempl o, quando o Mi ni stri o Rocki ngham, em 1776, di mi nui u os di rei tos aduanei ros
sobre o mel ao, de 6 pence para 1 pence o gal o, a i mportao nomi nal de mel ao qui ntupl i cou
em Boston. I sso se deu pri nci pal mente porque, com a taxa de 1 pence, sa a mai s barato
pagar o di rei to aduanei ro do que fazer contrabando.
da ndi a, fez com que o aumento real do consumo fosse mai or do que
o apresentado pel as estat sti cas.
NOTA SOBRE ESTATSTICA DO CONSUMO
8. Mui tos governos publ i cam estat sti cas gerai s do consumo de
certas cl asses de mercadori as. Mas, em parte devi do aos moti vos j
i ndi cados, el as so de pequena uti l i dade para nos auxi l i ar a estabel ecer
a rel ao causal entre as vari aes do preo e as vari aes das quan-
ti dades que o povo adqui re, ou da di stri bui o dos di ferentes ti pos de
consumo entre as di ferentes cl asses da col eti vi dade.
Em rel ao ao pri mei ro desses objeti vos, i sto , em rel ao
descoberta de l ei s que l i guem as vari aes do consumo s vari aes
do preo, parece ser poss vel consegui r mui to, se segui rmos a i ndi cao
dada por Jevons (Theory. p. 11 e 12), em rel ao aos l i vros comerci ai s
dos vareji stas. Um vareji sta, ou o gerente de uma cooperati va de venda,
que trabal he no bai rro operri o de uma ci dade i ndustri al , possui ge-
ral mente mei os de conhecer com sufi ci ente exati do a si tuao fi nan-
cei ra da mai or parte de seus fregueses. Pode saber quantas fbri cas
esto produzi ndo, quantas horas trabal ham por semana e toma conhe-
ci mento de qual quer al terao i mportante nos sal ri os na verdade,
o conheci mento de todas essas coi sas faz parte do seu comrci o. Como
regra geral , seus fregueses rapi damente se pem ao par de qual quer
modi fi cao no preo das coi sas que esto habi tuados a consumi r. Tal
homem, portanto, saber sempre de al gum caso em que a queda do
preo de al guma mercadori a acarretou um aumento do seu consumo,
a causa tendo agi do rapi damente e por si s, sem a i nterfernci a de
outras causas perturbadoras. Mesmo quando exi stem causas pertur-
badoras, esse homem saber dar o devi do desconto sua i nfl unci a.
Por exempl o, saber que, quando o i nver no se apr oxi ma, aumenta
o pr eo da mantei ga e das ver dur as; mas o tempo fr i o faz com que
as pessoas desejem comer mai s mantei ga e menos vegetai s e por -
tanto, embor a o pr eo da mantei ga e das ver dur as aumente com o
i nver no, haver uma di mi nui o mai or no consumo das ver dur as
do que o si mpl es aumento de pr eo acar r etar i a, e uma di mi nui o
mui to menor no consumo da mantei ga. No entanto, se em doi s i n-
ver nos consecuti vos seus fr egueses se manti ver em em i gual nmer o,
e r ecebendo apr oxi madamente o mesmo sal r i o, se, num desses i n-
ver nos, o pr eo da mantei ga se ti ver el evado mui to mai s do que no
outr o, a compar ao dos l i vr os do negoci ante nesses doi s i nver nos
nos dar uma i ndi cao pr eci sa da i nfl unci a que a var i ao do
pr eo exer ceu sobr e o consumo. Negoci antes que for necem a mai s
de uma cl asse soci al poder o possui r dados semel hantes em r el ao
ao consumo de seus fr egueses.
OS ECONOMISTAS
180
Se se pudesse obter um nmero sufi ci entemente grande de tbuas
da procura de di ferentes cl asses soci ai s, el as forneceri am o mei o de se
aval i ar, i ndi retamente, as vari aes da procura total , que resul tari am
de vari aes extremas do preo. Ati ngi r amos, assi m, um resul tado a
que no poss vel chegar por nenhum outro cami nho. Em regra geral
o preo de um arti go fl utua entre l i mi tes estrei tos, e dessa forma as
estat sti cas no nos fornecem um mtodo di reto, atravs do qual pos-
samos aval i ar qual seri a o consumo desse arti go, se o preo passasse
a ser ci nco vezes mai or ou menor do que atual mente. Sabemos, no
entanto, que se o preo se el evasse mui to, o consumo seri a fei to ex-
cl usi vamente pel as cl asses abastadas, e que, se o preo abai xasse mui to,
a grande mai ori a dos consumi dores estari a entre as cl asses trabal ha-
doras. Portanto, se o preo atual mui to el evado em rel ao s cl asses
mdi as e bai xas, podemos i nferi r, das l ei s da procura aos preos atuai s,
qual seri a a procura dos ri cos se o preo se el evasse a ponto de ser
consi derado el evado tambm em rel ao s suas posses. Por outro l ado,
se o preo atual moderado em rel ao aos ri cos, podemos i nferi r pel a
sua procura qual seri a a procura das cl asses trabal hadoras se o preo
ca sse a ponto de ser consi derado moderado em rel ao aos seus mei os.
s pel a adi o de l ei s fragmentri as da procura que podemos pre-
tender nos aproxi mar de uma l ei exata para preos mui to di ferentes
entre si . (I sso si gni fi ca que a curva geral da procura de uma mercadori a
s poder ser traada de uma manei ra fi dedi gna, a no ser nas vi zi -
nhanas do preo atual , quando consegui rmos reuni r as di versas curvas
fragmentri as da procura das di ferentes cl asses soci ai s. Cf. o 2 deste
cap tul o.)
Quando se ti ver fei to al gum progresso no senti do de reduzi r a
l ei s preci sas a procura de mercadori as desti nadas ao consumo i medi ato,
ento, mas somente ento, estaremos aptos a fazer a mesma coi sa
para as procuras secundri as, que del as dependem. I sso verdade
pri nci pal mente em rel ao procura de mo-de-obra operri a e de
todos aquel es que parti ci pam da produo de mercadori as desti nadas
venda, bem como procura de mqui nas, fbri cas, materi al para
estradas de ferro e outros i nstrumentos de produo. A procura do
trabal ho de mdi cos, de empregados domsti cos e de todos aquel es
cujos servi os so prestados di retamente ao consumi dor, assemel ha-se
em carter procura de mercadori as para consumo i medi ato e suas
l ei s podem ser i nvesti gadas da mesma manei ra.
uma tarefa i mportante, mas di f ci l , a de estabel ecer a proporo
em que as di ferentes cl asses soci ai s di stri buem os seus gastos entre
os arti gos de pri mei ra necessi dade, os confortos e os l uxos; entre coi sas
que fornecem um prazer momentneo e outras que proporci onam re-
servas de fora f si ca e moral ; e, por fi m, entre as coi sas que sati sfazem
MARSHALL
181
os desejos mai s bai xos e as que esti mul am e educam os desejos mai s
el evados. Vri as tentati vas foram fei tas nesse senti do no conti nente
europeu, durante os l ti mos ci nqenta anos, e recentemente o assunto
foi estudado com entusi asmo crescente no somente na Europa como
na Amri ca.
137
OS ECONOMISTAS
182
137 Ci taremos aqui uma ni ca tabel a, fei ta pel o grande estat sti co Engel , em rel ao ao consumo
das cl asses bai xas, mdi as e al tas da Saxni a, em 1857, porque el a servi u de model o e de
el emento de comparao para os i nquri tos posteri ores. a segui nte:
Freqentemente so reuni dos e comparados oramentos de operri os. Mas os operri os
que se do ao trabal ho de anotar suas despesas no so encontrados freqentemente, e
mui to menos os que as anotam com cui dado.
Quando preci so compl et-l as com o aux l i o da memri a, a memri a fi ca tentada a se
dei xar i nfl uenci ar pel a manei ra pel a qual o di nhei ro deveri a ter si do gasto, sobretudo se
as contas se desti nam a ser l i das por tercei ros. Nesse terreno frontei ri o entre a economi a
domsti ca e a economi a pol ti ca, h mui to trabal ho a ser real i zado, pri nci pal mente pel os
que no se sentem i ncl i nados a real i zar especul aes mai s gerai s e mai s abstratas.
I nformaes sobre o assunto foram col i gi das por Harri son, Petty, Canti l l on (cujo Supl emento,
que foi perdi do, pareci a conter al guns oramentos de operri os), Arthur Young, Mal thus
e outros. Eden, no fi m do scul o passado, col etou al guns oramentos de operri os, e h
mui tas i nformaes esparsas sobre as despesas das cl asses operri as nos rel atri os das
Comi sses para aux l i o de pobres, sobre fbri cas etc. Na verdade, prati camente em todo
ano surgem novas e i mportantes adi es, de fontes pbl i cas ou parti cul ares, aos nossos
dados sobre esse assunto.
preci so notar que o mtodo empregado por Le Pl ay, no seu monumental Les Ouvriers
Europens, o estudo i ntensi vo, em todos os detal hes, da vi da domsti ca de umas poucas
fam l i as escol hi das cui dadosamente. Para que se chegue a um bom resul tado, seri a preci so
uma combi nao rara de bom senso na escol ha dos casos, e de perspi cci a e sensi bi l i dade
na sua i nterpretao. Desde que seja bem empregado, o mel hor mtodo poss vel ; mas,
posto em mos i nbei s, chegar provavel mente a um mai or nmero de concl uses, em que
no se pode confi ar, do que as obti das pel o mtodo extensi vo, que consi ste em col i gi r
mai s rapi damente observaes numerosas, reduzi -l as tanto quanto poss vel a uma forma
estat sti ca, e obter mdi as ampl as, nas quai s as i nexati des e as i di ossi ncrasi as acabaro
por contrabal anar umas as outras.
CAPTULO V
Escolha entre Diferentes Usos de uma Mesma Coisa
Usos Imediatos e Usos Diferidos
1. A dona de casa pri mi ti va, constatando que di spe de um
nmero l i mi tado de meadas de l da tosqui a do ano, consi dera as
necessi dades domsti cas gl obai s de vesturi o e cui da de di stri bui r a
l entre el as de forma a contri bui r o mai s poss vel para o bem-estar
da fam l i a. El a jul gar ter errado se, depoi s de fei ta a di stri bui o,
tem moti vo para arrepender-se de no ter empregado mai s, di gamos,
em mei as, e menos em vestes. I sso quer di zer que el a cal cul ou mal os
l i mi tes nos quai s convi nha suspender a fei tura das mei as e bl uses
respecti vamente: foi al m no caso dos bl uses e fi cou aqum no das
mei as. Por i sso, nos pontos em que el a efeti vamente parou, a uti l i dade
da l empregada em mei as se tornou mai or que a da l empregada
nos bl uses. Mas, se, por outro l ado, el a acertou parar nos l i mi tes
devi dos, ento fez justamente a quanti dade preci sa de mei as e bl uses,
para que ti rasse a mesma soma de vantagem do l ti mo novel o apl i cado
em mei as, e do l ti mo que apl i cou em bl uses. I sso i l ustra um pri nc pi o
geral , que assi m pode ser expresso:
Se uma pessoa tem uma coi sa que pode empregar em usos di fe-
rentes, reparti -l a- entre estes de tal manei ra que a coi sa tenha a
mesma uti l i dade margi nal em todos. Poi s, se ti ver uma uti l i dade mar-
gi nal mai or numa coi sa que na outra, a pessoa ganhar em destacar
uma certa quanti dade do segundo uso e apl i c-l a no pri mei ro.
138
Uma grande desvantagem da economi a pri mi ti va, na qual h
mui to pouco de l i vre-troca, que uma pessoa pode faci l mente ter tanto
de uma coi sa, de l por exempl o, que, depoi s de apl i c-l a em todos os
183
138 Nosso exempl o pertence, verdade, mai s produo domsti ca do que ao consumo domsti co.
Mas i sso quase i nevi tvel , poi s h mui to poucas coi sas prontas para o consumo i medi ato
que sejam suscet vei s de mui tos usos di ferentes. E a teori a da di stri bui o dos mei os entre
usos di ferentes tem menos i mportnci a e apl i caes de menor i nteresse na ci nci a da
procura que na da oferta. Ver e. g. Li vro Qui nto. Cap. I I I , 3.
usos poss vei s, a uti l i dade margi nal em cada uso bai xa; e ao mesmo
tempo pode ter to pouco de uma outra coi sa, di gamos madei ra, que
a uti l i dade margi nal desta para el a mui to al ta. Entretanto, al guns
dos seus vi zi nhos podem estar em grande necessi dade de l , e ter mai s
madei ra do que a que podem empregar bem. Se cada um d aqui l o
que para si tem menor uti l i dade, e recebe aqui l o de que tem mai or,
todos ganharo com a troca. Mas seri a enfadonho e di f ci l fazer esta
operao pel o escambo.
A di fi cul dade do escambo no to grande, certamente, quando
apenas h um pequeno nmero de mercadori as si mpl es, cada uma
capaz de ser adaptada, atravs do trabal ho domsti co, a di versos usos.
A mul her tecel e as fi l has fi andei ras ajustam regul armente as uti l i -
dades margi nai s dos di ferentes usos da l , como o mari do e os fi l hos
o fazem com a madei ra.
2. Mas, quando as mercadori as se tornam mui to numerosas e
especi al i zadas, h uma necessi dade urgente do uso l i vre do di nhei ro
ou poder aqui si ti vo geral , poi s s el e pode ser empregado faci l mente
numa i l i mi tada vari edade de compras. E numa economi a monetri a
a boa gesto consi ste em fi xar de tal manei ra as margens do desembol so
de cada categori a de despesa que a uti l i dade margi nal de 1 xel i m de
mercadori a em cada categori a seja a mesma. E cada qual obter este
resul tado veri fi cando constantemente se no h al guma coi sa em que
esteja gastando de mai s, de manei ra que ganhari a mai s restri ngi ndo
um pouco dessa despesa para empreg-l a num outro setor.
Assi m, por exempl o, o empregado que est na dvi da se i r
ci dade de carro, ou se i r a p para mel horar um pouco o al moo,
compara uma com a outra as uti l i dades (margi nai s) dos doi s di ferentes
modos de gastar seu di nhei ro. E quando uma experi mentada dona de
casa esti mul a um jovem casal a dar i mportnci a ao fato de anotar
contas cui dadosamente, um dos pri nci pai s moti vos do consel ho que
el es podem evi tar assi m o gasto de mui to di nhei ro i mpul si vamente,
em mob l i a e outras coi sas, poi s, embora certa quanti dade destas seja
real mente necessri a, sua uti l i dade (margi nal ) no estar proporci onal
com o custo, se compradas em excesso. E quando, no fi m do ano, o
jovem casal faz o bal ano de seu oramento, e acha necessri o reduzi r
as despesas em certos pontos, os esposos comparam as uti l i dades (mar-
gi nai s) dos di ferentes i tens, pesando a perda da uti l i dade que resul tari a
do corte de uma l i bra esterl i na de despesa aqui , como que el es perde-
ri am em cort-l a acol , el es se esforam por consegui r suas poupanas
de tal sorte que a perda total de uti l i dade possa ser m ni ma, e a
uti l i dade gl obal que fi ca para el es seja a mxi ma.
139
OS ECONOMISTAS
184
139 Os oramentos da cl asse operri a al udi dos no cap tul o I V, 8 podem prestar i mportantes
servi os ajudando as pessoas a di stri bui r os seus recursos sabi amente entre as di ferentes
apl i caes, de sorte que a uti l i dade margi nal em cada uma seja a mesma. Mas, para os
probl emas vi tai s da economi a domsti ca, to i mportante saber agi r bem como bem des-
3. Os di ferentes usos entre os quai s uma mercadori a di stri -
bu da no preci sam ser todos atuai s: al guns podem ser atuai s e outros
futuros. Uma pessoa prudente se esforar por di stri bui r os seus re-
cursos entre as di ferentes apl i caes, presentes e futuras, de manei ra
que tenham em cada uma a mesma uti l i dade margi nal . Mas, esti mando
a uti l i dade margi nal atual de uma remota fonte de prazer, duas coi sas
devem ser tomadas em conta: pri mei ro, a sua i ncerteza (esta uma
propri edade objetiva que todas as pessoas bem i nformadas esti mari am
da mesma manei ra); segundo, a di ferena entre um prazer di stante e
um prazer atual (uma propri edade subjetiva que di ferentes pessoas
esti mari am de manei ra di versa, de acordo com os seus caracteres i n-
di vi duai s e as ci rcunstnci as do momento).
Se as pessoas consi derassem os benef ci os futuros to desejvei s
quanto os benef ci os si mi l ares i medi atos, esforar-se-i am provavel men-
te para di stri bui r seus prazeres e outras sati sfaes uni formemente
por todo o curso de sua vi da. Estari am di spostas, dessa forma, geral -
mente, a renunci ar a um prazer atual por um i gual prazer no futuro,
assentado que ti vessem certeza de obt-l o. Mas, de fato, a natureza
humana consti tu da de tal manei ra que, esti mando o val or atual
de uma vantagem futura, a mai ori a geral mente faz uma segunda de-
duo do seu val or futuro, na forma do que podemos chamar desconto,
que aumenta com o per odo pel o qual a vantagem protel ada. Al gum
cal cul ar um benef ci o futuro como se ti vesse um val or aproxi mado do
que teri a para el e se fosse atual ; enquanto outra pessoa, que tem
menor poder de aval i ar o futuro, menos paci nci a e governo de si mes-
ma, se i nteressar rel ati vamente pouco por uma vantagem que no
esteja prxi ma de suas mos. E a mesma pessoa vari a de ni mo, fi cando
ora i mpaci ente e vi da de prazeres i medi atos, ora, pel o contrri o, vi -
vendo no futuro e di sposta a adi ar todos os prazeres conveni entemente
adi vei s. Por vezes, no est di sposta a ter a mesma preocupao por
qual quer outra coi sa; outras vezes como a cri ana, que ti ra os enfei tes
dos pudi ns para com-l os de vez; e al gumas vezes ai nda como a que
os pe de l ado para com-l os por l ti mo. Em todos os casos, quando
cal cul amos a taxa qual o nosso benef ci o futuro descontado, devemos
ter em conta os prazeres da espera.
As taxas pel as quai s di ferentes pessoas descontam o futuro no
afetam somente a sua tendnci a para a poupana, como o termo
comumente compreendi do, mas tambm sua tendnci a para comprar
coi sas que consti tui ro fontes permanentes de prazer, mai s do que as
MARSHALL
185
pender. A dona de casa i ngl esa e a ameri cana ti ram menores provei tos dos mei os de que
di spem do que a dona de casa francesa, no porque no sai bam comprar, mas porque
no sabem fazer como esta bons pratos com pedaos de carne baratos, l egumes etc. A
economi a domsti ca di z-se freqentemente pertencer ci nci a do consumo, mas i sto s
mei a verdade. Os grandes efei tos na economi a domsti ca, ao menos entre a parte frugal
das cl asses operri as angl o-saxs, so defei tos de produo mai s que de consumo.
que fornecem uma sati sfao mai s forte, porm mai s transi tri a; para
comprar uma roupa nova mai s do que a freqentar uma taverna; para
comprar mvei s si mpl es e sl i dos, em vez de mvei s vi stosos que l ogo
cai ro aos pedaos.
sobretudo em rel ao a esses objetos que o prazer de posse se
faz senti r. Mui tas pessoas ti ram do mero senti mento de propri edade uma
sati sfao mai s forte do que a que ti ram dos prazeres ordi nri os, no senti do
mai s estrei to da pal avra. Por exempl o, o contentamento da posse da terra
l eva mui ta gente a pagar por el a um preo to el evado, que dar um
rendi mento mui to bai xo i nverso fei ta. Na prpri a propri edade h uma
sati sfao; e h um contentamento pela di stino que el a outorga. Al gumas
vezes, o l ti mo mai s forte que o pri mei ro, outras mai s fraco e tal vez
ningum se conhea, e aos demai s, sufi ci entemente, para traar uma linha
certa de demarcao entre as duas sati sfaes.
4. Como j se tem observado, no podemos comparar as quan-
tidades de doi s benef ci os, que so gozados em pocas di versas pel a
mesma pessoa. Quando uma pessoa adi a um aconteci mento que l he
proporci ona prazer, el a no adi a o prazer, mas renunci a a um prazer
atual , e o troca por um outro, ou uma expectati va de l ograr um outro
numa data futura: e no podemos di zer se el a espera que o prazer
futuro seja mai or do que o que renunci ou, se no conhecemos todas
as ci rcunstnci as do caso. Por i sso, embora sai bamos a que taxa des-
conta os eventos agradvei s do futuro, tal como despendendo uma l i bra
esterl i na em sati sfaes i medi atas, ai nda assi m no sabemos a taxa
qual desconta prazeres futuros.
140
Contudo, podemos obter uma medi da arti fi ci al da taxa qual se
descontam os benef ci os futuros, parti ndo de duas suposi es: pri mei ra,
que se espera ser aproxi madamente to ri co no futuro quanto se
OS ECONOMISTAS
186
140 Cl assi fi cando certos prazeres como mai s urgentes do que outros, esquece-se freqentemente
que o adi amento de um aconteci mento agradvel pode al terar as ci rcunstnci as nas quai s
el e se produz, e por consegui nte al terar o prpri o carter do prazer. Por exempl o, di z-se
que um moo desconta a uma taxa mui to al ta o prazer de uma excurso al pi na, que espera
efeti var l ogo que faa fortuna. El e gostari a mui to mai s de poder real i z-l a l ogo, em parte
porque ento el a l he dari a mui to mai s prazer. Da mesma sorte, pode acontecer que o
adi amento de um evento agradvel resul te na di stri bui o desi gual no tempo de um certo
bem, submeti do fortemente Lei da Di mi nui o da UTI LI DADE MARGI NAL. Por exempl o,
di z-se freqentemente que os prazeres de comer so especi al mente urgentes; e sem dvi da
verdade que, se um homem passa sem jantar sei s di as na semana, e no sti mo come sete
jantares, el e perde mui to, porque, adi ando os sei s jantares, el e no adi a os prazeres de
comer sei s jantares separados, mas os substi tui pel o prazer de uma refei o excessi va num
di a. E ai nda, quando uma pessoa reserva ovos para o i nverno, el a no espera que el es
fi quem mai s saborosos que ento, mas si m que el es fi quem raros, poi s sua uti l i dade ser
mai or que no momento. I sso mostra a i mportnci a de estabel ecer uma cl ara di sti no entre
o desconto de um prazer futuro e o desconto do prazer ti rado do futuro gozo de uma certa
poro de uma mercadori a. Poi s, no l ti mo caso, devemos l evar em conta a di ferena entre
as uti l i dades margi nai s que ter a mercadori a nas duas pocas; enquanto, no pri mei ro,
foi l evada em conta apenas uma vez, na aval i ao da soma de prazer, e no preci sa mai s
ser l evada em conta outra vez.
hoje; segunda, que a capaci dade para ti rar vantagem das coi sas com-
prvei s com di nhei ro no mudar no seu conjunto, embora possa ter
aumentado em certas di rees, e di mi nu do em outras. Da , se uma
pessoa se di spe, ou si mpl esmente deseja economi zar uma l i bra em
sua atual despesa na certeza de ter ( sua di sposi o ou dos seus)
daqui a um ano um gui nu,
141
podemos di zer com exati do que desconta
os benef ci os futuros perfei tamente seguros (sujei tos apenas condi o
da mortal i dade humana) taxa de 5% ao ano. Veri fi cada a dupl a
suposi o, a taxa qual desconta benef ci os (certos) futuros ser a
taxa pel a qual pode descontar o di nhei ro no mercado fi nancei ro.
142
At aqui , temos consi derado cada prazer separadamente. Mas um
grande nmero das coi sas que se compram so durvei s, i sto , no se
consomem de uma s vez. Um bem durvel , tal como um pi ano, fonte
provvel de mui tos prazeres, mai s ou menos remotos, e seu val or para o
comprador a serventi a gl obal , ou o val or de todos estes prazeres, para
el e, tendo em conta a sua i ncerteza e a sua di stncia.
143
MARSHALL
187
141 Moeda i ngl esa equi val ente a 21 xel i ns. (N. dos T.)
142 i mportante l embrar que, excl u dos os doi s pressupostos, no h nenhuma rel ao di reta
entre a taxa de desconto de um emprsti mo em di nhei ro e a taxa pel a qual so descontados
benef ci os futuros. Um homem pode ser to i mpaci ente com a demora, que a promessa de
um prazer daqui a dez anos no o far renunci ar a um prazer ao al cance da mo e que
el e consi dera quatro vezes menor. Entretanto, se el e teme que daqui a dez anos o di nhei ro
l he possa ser to escasso (com uma uti l i dade margi nal mui to al ta, poi s) que mei a-coroa
(3 xel i ns) ento l he possa dar mai or prazer ou l i vr-l o mai s de penas do que uma l i bra
esterl i na agora, el e economi zar al guma coi sa para o futuro, mesmo que tenha que arma-
zen-l a, i mproduti vamente, pel o mesmo moti vo pel o qual el e guardari a ovos para o i nverno.
Mas estamos aqui entrando em questes que mai s se rel aci onam com a oferta do que com
a procura. A seu turno, teremos que consi der-l as de di ferentes pontos de vi sta, em rel ao
com a acumul ao da ri queza, e ai nda depoi s em rel ao com as causas que determi nam
a taxa de juros. Podemos, porm, exami nar aqui como se pode medi r numeri camente o
val or atual de um prazer futuro, no pressuposto de que conhecemos, (i ) seu montante, (i i )
a data na qual se efeti var, se vi er total mente, (i i i ) as possi bi l i dades de vi r a real i zar-se,
e (i v) a taxa pel a qual a pessoa em questo desconta os prazeres futuros. Se a probabi l i dade
de real i zao de trs por um, de sorte que h trs probabi l i dades a favor, em quatro, o
val or do que se espera 3/4 do que teri a se el e fosse certo; se essa probabi l i dade somente
de sete contra ci nco, i sto , somente sete probabi l i dades em doze a favor, o val or do prazer
esperado apenas de sete doze avos do que teri a se fosse certo, e assi m por di ante. Este
o seu val or atuari al : mas deve ser depoi s consi derado o fato de que o val or real para
qual quer pessoa de um provei to i ncerto geral mente menor do que seu val or atuari al . Se
o prazer previ sto tanto i ncerto quanto di stante, temos uma dupl a deduo a fazer de
seu val or total . Suponhamos, por exempl o, que uma pessoa dari a 10 xel i ns pel a compensao
de um prazer presente e certo, mas el e no se efeti var seno daqui a um ano, e a pro-
babi l i dade de ser real i zado de 3 contra 1. Suponhamos tambm que el a desconta o futuro
taxa de 20% ao ano. Ento o val or para el a do prazer antevi sto de 3/4 x 80/100 x 10
xel i ns, i sto , 6 xel i ns. Confronte o cap tul o de i ntroduo de Jevons, Theory of Political Economy.
143 Natural mente essa esti mati va fei ta grosso modo; numa tentati va para reduzi -l a exati do,
devemos vol tar ao que di sse, neste pargrafo e no precedente, sobre a i mpossi bi l i dade de
comparar com preci so prazeres ou outras sati sfaes que no ocorram ao mesmo tempo;
e tambm sobre a pressuposi o de uni formi dade que h em consi derar-se que o desconto
de prazeres futuros obedece l ei exponenci al .
CAPTULO VI
Valor e Utilidade
1. Podemos agora passar a consi derar em que medi da o preo
que se paga por uma coi sa representa a vantagem proveni ente de pos-
su -l a. Esta matri a mui to extensa sobre a qual a ci nci a econmi ca
pouco tem a di zer, mas esse pouco de al guma i mportnci a.
J vi mos que o preo que se paga por uma coi sa no excede
nunca, e raramente ati nge, o que se estari a di sposto a pagar antes
que pri var-se del a; de modo que a sati sfao que se obtm com a compra
excede geral mente aquel a de que se pri va ao pagar o seu preo, re-
sul tando, portanto, da compra um excedente de sati sfao. Esse exce-
dente de sati sfao mede-se economi camente pel a di ferena entre o
preo que o comprador consenti ri a em pagar para no se pri var da
coi sa e o preo que pagou na real i dade. Podemos cham-l a de excedente
do consumidor (consumers surplus).
144
evi dente que os excedentes do consumi dor deri vados de al gumas
mercadori as so mui to mai ores do que os obti dos de outras. Exi stem
mui tos arti gos de conforto e de l uxo cujos preos esto mui to abai xo
dos que mui tas pessoas estari am di spostas a pagar antes que pri var-se
del es; e que, portanto, dei xam um excedente do consumi dor mui to gran-
de. Exempl o di sso so os fsforos, o sal , os jornai s e os sel os do correi o.
O benef ci o que uma pessoa obtm pel a aqui si o, a bai xo preo,
de coi sas pel as quai s pagari a um preo el evado para no pri var-se
del as, pode ser chamado o benef ci o que a pessoa ti ra de suas oportu-
nidades ou do seu meio ambiente; ou, para empregar uma pal avra
mui to usada h al gumas geraes, da conjuntura. Pretendemos neste
cap tul o apl i car a noo de excedente do consumi dor como el emento
189
144 H quem use as expresses sal do do consumi dor e l ucro do consumi dor, e ai nda al guns
adotaram a prpri a pal avra surplus, cuja vocao uni versal i dade vem da ori gem l ati na.
(N. dos T.)
auxi l i ar na esti mati va de al guns dos benef ci os que uma pessoa obtm
de seu mei o ambi ente ou da sua conjuntura.
145
2. A fi m de tornar essa noo mai s preci sa, consi deremos o exempl o
do ch comprado para o consumo domsti co. Fi guremos o exempl o de um
homem que, caso o preo do ch fosse de 20 xel i ns a l i bra-peso, adqui ri ri a
uni camente uma l i bra por ano; comprari a duas l i bras se o preo fosse de
14 xelins; trs l i bras se o preo fosse de 10 xel i ns; 4 l i bras se o preo
fosse de 6 xel i ns; e que, como o preo na real i dade de 2 xel i ns, compra
7 l i bras. Temos que i nvesti gar o excedente do consumi dor que el e obtm
graas possi bi l i dade de adqui ri r o ch a 2 xelins a libra.
O fato de adqui ri r apenas uma l i bra quando o preo de 20
xel i ns prova que o prazer ou a sati sfao total que obtm com essa
l i bra de ch to grande quanto o que obteri a se gastasse 20 xel i ns
em outras coi sas. Quando o preo cai a 14 xel i ns, o consumi dor poderi a,
se qui sesse, conti nuar a comprar apenas uma l i bra. Dessa forma, ob-
teri a por 14 xel i ns al go que para el e val eri a pel o menos 20 xel i ns,
obteri a um excedente de sati sfao que para el e val eri a pel o menos 6
xel i ns ou, em outras pal avras, obteri a excedente do consumi dor de,
pel o menos, 6 xel i ns. Mas na real i dade compra, por l i vre e espontnea
vontade, mai s uma l i bra de ch, mostrando dessa forma que consi dera
essa segunda l i bra como val endo, pel o menos, 14 xel i ns, que represen-
tam para el e a uti l i dade adicional dessa segunda l i bra. Obtm por 28
xel i ns al go que para el e val e pel o menos 20 + 14 xel i ns, ou seja, 34
xel i ns. O excedente de sati sfao que obtm com essa compra no
di mi nui conti nua a ser de 6 xel i ns pel o menos. A uti l i dade total
das duas l i bras de, pel o menos, 34 xel i ns, e o excedente do consumi dor
de pel o menos 6 xel i ns.
146
O fato de cada compra adi ci onal reagi r
OS ECONOMISTAS
190
145 Essa expresso fami l i ar aos economi stas al emes e corresponde a uma necessi dade que
se faz senti r na Economi a i ngl esa. Poi s oportuni dade e mei o ambi ente, os ni cos termos
que podem substi tu -l a, fogem por vezes ao senti do. Por conjuctur, di z Wagner (Grundlegung.
Ed. I I I , p. 387), entendemos a soma total das condi es tcni cas, econmi cas, soci ai s e
l egai s que, em si stema de vi da naci onal (Volkswirthschaft) baseado na di vi so do trabal ho
e na propri edade pri vada especi al mente na propri edade pri vada da terra e dos outros
mei os materi ai s da produo determi na a procura e a oferta de mercadori as e, portanto,
o seu val or de troca; essa determi nao em regra, ou pel o menos na sua parte pri nci pal ,
independente da vontade do propri etri o, da sua ati vi dade ou negl i gnci a.
146 Podem-se dar al gumas expl i caes adi ci onai s dessa afi rmati va, embora equi val essem a repeti r
com outras pal avras o que j se di sse. O si gni fi cado da condi o que se estabel ece no texto
de que o comprador adqui re a segunda l i bra por sua prpri a vontade fi ca demonstrado pel a
consi derao de que, se l he houvessem ofereci do o preo de 14 xel i ns sob a condi o de comprar
as 2 l i bras, teri a ti do que optar entre acei tar uma l i bra a 20 xel i ns ou 2 l i bras a 28 xel i ns e
ento sua determi nao de acei tar 2 l i bras no teri a demonstrado que consi derava que a
segunda l i bra representava para el e um val or de mai s de 8 xel i ns. Mas, no caso, adqui re uma
segunda l i bra, pagando por el a 14 xel i ns i ncondi ci onal mente, o que prova que para el e essa
l i bra val e pel o menos 14 xel i ns. (Se o comprador pudesse adqui ri r bol i nhos a 1 pni cada,
mas sete bol i nhos por apenas 6 pence e se deci di sse a comprar sete, sabemos que el e resol veu
desi sti r do seu sexto pni em troca do sexto e sti mo bol i nhos, porm no sabemos at que
preo el e pagari a para no desi sti r do sti mo bol i nho.)
sobre a uti l i dade das compras que o consumi dor j se deci di ra a fazer
j foi tomado em considerao na elaborao da tabela e no deve ser
computado uma segunda vez.
Quando o preo cai a 10 xel i ns o consumi dor poderi a, se qui sesse,
conti nuar a comprar apenas 2 l i bras, e dessa forma, obteri a por 20
xel i ns o que para el e val eri a pel o menos 34 xel i ns, da resul tando um
excedente de sati sfao no val or de pel o menos 14 xel i ns. Mas de fato
o consumi dor prefere adqui ri r uma tercei ra l i bra e, como chega a essa
deci so espontaneamente, sabemos que, ao faz-l o, no di mi nui o seu
excedente de sati sfao. Obtm assi m por 30 xel i ns 3 l i bras de ch,
das quai s a pri mei ra tem para el e pel o menos o val or de 20 xel i ns, a
segunda o de 14 xel i ns e a tercei ra o de 10 xel i ns. A uti l i dade total
das 3 l i bras val e pel o menos 44 xel i ns e o seu excedente do consumi dor
de pel o menos 14 xel i ns, e assi m por di ante.
Quando, fi nal mente, o preo cai a 2 xel i ns, o consumi dor adqui re
7 l i bras que para el e val em, separadamente, 20, 14, 10, 6, 4, 3 e 2
xel i ns, ou seja, um total de 59 xel i ns. Essa soma a medi da da uti l i dade
total das 7 l i bras de ch e o seu excedente do consumi dor equi val ente
pel o menos di ferena entre essa soma e os 14 xel i ns que na real i dade
foram pagos, ou seja, a 45 xel i ns. esse o val or do excedente de
MARSHALL
191
Faz-se de vez em quando a objeo de que, medi da que se aumentam as compras, di mi nui
a urgnci a das necessi dades sati sfei tas com as pri mei ras aqui si es e decresce sua uti l i dade.
Dessa forma, seri a preci so refazer conti nuamente as pri mei ras partes da nossa l i sta de
preos da procura num n vel mai s bai xo, medi da que passamos a preos mai s bai xos
(i sto , preci sar amos tornar a traar a curva da procura num n vel mai s bai xo, medi da
que fssemos nos di ri gi ndo para a di rei ta).
I sso, porm, fal seari a a i di a segundo a qual foi traada a l i sta de preos. A observao
seri a vl i da se o preo de procura, col ocado ao l ado de cada nmero de l i bras de ch,
representasse a uti l i dade mdi a desse nmero. Porque a verdade que, se o comprador
pagasse exatamente 20 xel i ns por uma l i bra, e somente 14 xel i ns pel a segunda, pagari a
apenas 34 xel i ns pel as duas; i sto , uma mdi a de 17 xel i ns. Se a nossa l i sta se referi sse
aos preos mdios, pagari a 17 xel i ns pel a segunda l i bra. Nesse caso, seri a preci so, sem
dvi da, refazer a l i sta medi da que avanssemos, poi s, quando ti vesse comprado a tercei ra
l i bra, a uti l i dade mdi a de cada uma das trs seri a menor do que a de 17 xel i ns; na
real i dade, seri a de 14 xel i ns e 8 pence, desde que conti nussemos a presumi r que el e
pagari a apenas 10 xel i ns pel a tercei ra l i bra. Mas essa di fi cul dade evi tada com o mtodo
de l evantar os preos de procura adotado aqui , de acordo com o qual a segunda l i bra
credi tada, no por 17 xel i ns, que representa o val or mdi o, por l i bra, das duas l i bras, mas
por 14 xel i ns, que representa a uti l i dade adicional, que uma segunda l i bra teri a. Essa
uti l i dade adi ci onal permanece i mutvel quando ti ver adqui ri do uma tercei ra l i bra, cuja
uti l i dade adi ci onal medi da por 10 xel i ns.
Provavel mente a pri mei ra l i bra val i a para el e mai s do que 20 xel i ns. Sabemos apenas que
no val i a menos do que i sso. Provavel mente, mesmo em 20 xel i ns o consumi dor obteve
al gum l ucro. Tambm a segunda l i bra val i a mai s do que 14 xel i ns. Sabemos apenas que
val i a pel o menos 14 xel i ns, e no mai s 20 xel i ns. Nesse ponto obter-se-i a portanto um
excedente de sati sfao de pel o menos 6 xel i ns e, provavel mente, um pouco mai s. Sempre
exi ste uma margem desi gual dessa natureza, como os matemti cos bem sabem, quando
observamos os efei tos de mudanas consi dervei s, como a de 20 para 14 xel i ns a l i bra. Se
ti vssemos comeado com preo mui to el evado e o di mi nu ssemos atravs de modi fi caes
quase i nfi ni tesi mai s, como a de 1/4 de xel i m a l i bra, e observssemos as vari aes i nfi ni-
tesi mai s no consumo de uma pequena frao de l i bra de cada vez, essa margem desi gual
teri a desapareci do.
sati sfao que o consumi dor obtm pel a compra do ch sobre a sati s-
fao que teri a se gastasse os 14 xel i ns aumentando um pouco sua
compra de outras mercadori as, das quai s no jul gou conveni ente ad-
qui ri r mai or quanti dade aos preos correntes, e cuja compra adi ci onal
no l he proporci onari a nenhum excedente do consumi dor. Em outras
pal avras, o consumi dor obtm esses 45 xel i ns de sati sfao supl ementar
de sua conjuntura, da adaptao do mei o ambi ente s suas necessi dades
em matri a de ch. Se essa adaptao dei xasse de exi sti r, e se fosse
i mposs vel obter ch a qual quer preo, o consumi dor teri a uma perda
de sati sfao i gual pel o menos que poderi a ter obti do gastando 45
xel i ns mai s na aqui si o de outras coi sas que s representavam para
el e exatamente o mesmo val or que o pago por el as.
147
3. Da mesma forma, se pusermos de l ado por um momento o fato
de que a mesma soma de di nhei ro representa di ferentes quanti dades de
prazer para di ferentes pessoas, podemos medi r o excedente de sati sfao
que a venda do ch proporci ona, por exempl o, no mercado de Londres,
pel o agregado das somas em que os preos rel aci onados numa l i sta com-
pl eta de preos da procura do ch excedem seus preos de venda.
148
OS ECONOMISTAS
192
147 O prof. Ni chol son (Principles of Political Economy, v. I , e Economic J ournal, v. I V) l evantou
al gumas objees noo de excedente do consumi dor, as quai s foram respondi das pel o
prof. Edgeworth na mesma revi sta. Pergunta o prof. Ni chol son: De que val e di zer que a
uti l i dade de uma renda de, di gamos, 100 l i bras esterl i nas por ano val e 1 000 l i bras? De
nada val eri a di zer i sso, mas poderi a ser ti l , se compararmos a vi da na fri ca Central
com a vi da na I ngl aterra, di zer que, embora as coi sas que o di nhei ro pode adqui ri r na
fri ca Central sejam em mdi a to baratas como na I ngl aterra, h, no entanto, mui tas
coi sas que no podem ser adqui ri das na fri ca Central , e, portanto, uma pessoa que possua
1 000 l i bras por ano na fri ca no vi ve to bem quanto uma pessoa que possua 300 ou
400 l i bras na I ngl aterra. Quando um homem paga para atravessar uma ponte 1 pni de
taxa, economi zando assi m um transporte adi ci onal que l he custari a 1 xel i m, no se costuma
di zer que 1 pni val e 1 xel i m, mas que o pni adi ci onado vantagem que a ponte oferece
(a parte que el a representa nessa conjuntura) val eu o xel i m, naquel e di a. Se a ponte ti vesse
si do destru da num determi nado di a em que preci sasse del a, el e estari a numa si tuao
to m como se ti vesse perdi do pel o menos 11 pence.
148 Consi deremos a curva DD da procura do ch num grande mercado. Seja OH a quanti dade
vendi da nesse mercado ao preo anual de HA, tomando o ano como uni dade de tempo. Se
tomarmos em OH um ponto qual quer M, traaremos a perpendi cul ar MP at encontrar a
Fi g. 10
curva no ponto P, e traaremos ento uma l i nha hori zontal de A at R. Vamos supor que
as di ferentes l i bras estejam numeradas na ordem da urgnci a dos di ferentes compradores,
sendo que a avi dez do comprador de qual quer l i bra-peso medi da pel o preo que el e se
deci da a pagar por essa l i bra. A fi gura nos mostra que OM pode ser vendi da pel o preo
Essa anl i se, com seus nomes novos e compl i cado mecani smo,
pode pri mei ra vi sta parecer rebuscada e i rreal . Mas se a exami narmos
mai s deti damente, veremos que el a no apresenta nenhuma di fi cul dade
nova, nem nenhuma suposi o nova; l i mi ta-se a pr em evi dnci a as
di fi cul dades e as suposi es que esto l atentes na l i nguagem corrente
do mercado. Porque aqui , como em tantos outros casos, a si mpl i ci dade
aparente das frases popul ares ocul ta uma compl exi dade de fato, e o
dever da ci nci a pr a descoberto essa compl exi dade l atente, enfren-
t-l a e reduzi -l a quanto poss vel . Por essa forma poderemos, mai s tarde,
abordar certas di fi cul dades, o que no poderi a ser fei to com o pensa-
mento e a l i nguagem vaga da vi da corrente.
Di z-se comumente que no se mede o val or real das coi sas para
um homem pel o preo que el e paga por el as; que, embora el e gaste
mai s, por exempl o, com ch do que com sal , este l he mui to mai s
val i oso, e que i sso fi cari a cabal mente demonstrado se o i ndi v duo em
questo se encontrasse total mente pri vado de sal . Li mi tamo-nos a dar
a essa i di a uma forma tcni ca preci sa quando di zemos que no po-
MARSHALL
193
PM mas que, a um preo mai s al to, no se podero vender tantas l i bras. Dever haver
ento um determi nado i ndi v duo que comprar mai s ao preo PM do que a qual quer outro
preo mai s el evado, e consi deraremos a OMsima l i bra como tendo si do vendi da a esse
i ndi v duo. Suponhamos, por exempl o, que PM representa 4 xel i ns, e que OM representa
1 mi l ho de l i bras. O comprador suposto no texto est di sposto a comprar sua qui nta l i bra
de ch a 4 xel i ns, e a l i bra OM, ou seja, a mi l i onsi ma l i bra, pode ser consi derada como
tendo si do vendi da a el e. Se AH, e portanto RM, representa 2 xel i ns, o excedente do
consumi dor deri vado da OMsima l i bra o excesso de PM, ou sejam os 4 xel i ns, que o
comprador dessa l i bra pagari a por el a, sobre RM, os 2 xel i ns que na real i dade paga. Vamos
supor que se trace um paral el ogramo verti cal mui to fi no, cuja al tura seja PM e cuja base
seja a di stnci a, medi da em Ox, que representa apenas uma uni dade, ou seja, uma l i bra
de ch. Daqui por di ante ser conveni ente consi derar o preo como sendo medi do, no por
uma reta matemti ca sem espessura, como o caso de PM, mas por um paral el ogramo
mui to estrei to que poderi a ser chamado de uma l i nha reta grossa, cuja l argura sempre
equi val ente di stnci a, medi da em Ox, que represente apenas uma uni dade, ou uma l i bra
de ch. Assi m, poi s, devemos di zer que a sati sfao total que se obtm com a OMsima
l i bra de ch representada (ou, de acordo com a suposi o fei ta no per odo anteri or,
medi da) pel a grossa l i nha reta MP; que o preo pago por essa l i bra representado pel a
grossa l i nha reta MR, e que o excedente do consumi dor obti do com essa l i bra representado
pel a grossa l i nha reta RP. Suponhamos, agora, que esses paral el ogramos estrei tos, ou
grossas l i nhas retas, sejam traados de todos os pontos em que M possa estar col ocado
entre O e H, um para cada l i bra de ch. As grossas l i nhas retas assi m obti das, como o
caso de MP, a parti r de Ox at a curva da procura, representaro o total da sati sfao
obti da em cada l i bra de ch; e, tomadas em conjunto, el as ocuparo compl etamente a rea
DOHA. Portanto, podemos di zer que a rea DOHA representa a sati sfao total deri vada
do consumo do ch. Da mesma forma, cada uma das grossas l i nhas retas traadas, como
o caso de MR, a parti r de Ox at ati ngi r AC representa o preo que na verdade pago
por uma l i bra de ch. Essas retas, tomadas em conjunto, formam a rea COHA, e, portanto,
essa rea representa o preo total pago pel o ch. Fi nal mente, cada uma das retas traadas,
como o caso de RP, a parti r de AC at a curva da procura, representa o excedente do
consumi dor proveni ente da correspondente l i bra de ch. Essas retas, tomadas em conjunto,
formam a rea DCA e, portanto, essa rea representa o excedente total do consumi dor,
deri vado do ch, quando o preo for de AH.
Mas preci so repeti r que essa medi da geomtri ca apenas um agregado das medi das de
benef ci os que no so todos medi dos na mesma escal a, a no ser fazendo a suposi o expressa
no texto. Sem esse pressuposto, a rea representa apenas um total de sati sfaes, cujas di versas
parcel as no foram medi das com exati do. E somente naquel a suposi o que a rea mede
o vol ume do total lquido de sati sfao que os di ferentes compradores de ch obtm com el e.
demos confi ar na uti l i dade margi nal de uma mercadori a para expri mi r
sua uti l i dade total . Se al guns nufragos, na expectati va de terem de
esperar um ano antes de serem socorri dos, ti vessem al gumas l i bras
de ch e o mesmo nmero de l i bras de sal para di vi di r entre si , dari am
mui to mai s val or ao sal , porque a uti l i dade margi nal de uma ona de
sal , quando a pessoa supe que s obter um pequeno nmero de onas
durante o ano, mai or do que a do ch nas mesmas ci rcunstnci as.
Mas, em condi es normai s, como o preo do sal bai xo, compra-se
tanto sal que uma l i bra a mai s resul tari a numa sati sfao adi ci onal
mui to pequena; a uti l i dade total do sal na verdade mui to grande,
mas a sua uti l i dade margi nal bai xa. Por outro l ado, como o ch
caro, mui tas pessoas uti l i zam-no menos e dei xam-no em i nfuso por
mai s tempo do que o fari am se pudessem adqui ri -l o a um preo to
bai xo como o do sal . O desejo que tm de ch est l onge de se achar
sati sfei to: sua uti l i dade margi nal permanece el evada, e el as podem
desejar pagar tanto por uma ona de ch adi ci onal como por uma l i bra
a mai s de sal . A frase usual na vi da corrente, com a qual comeamos,
sugere tudo i sso, porm no de uma forma exata e defi ni da, como a
de que se necessi ta para uma assero uti l i zvel em trabal hos poste-
ri ores. O uso de termos tcni cos a pri nc pi o nada acrescenta a nossos
conheci mentos mas d-l hes forma compacta e fi rme, capaz de servi r
de base a outros estudos.
149
O val or real de uma coi sa pode ser di scuti do no em rel ao a
uma ni ca pessoa, mas em rel ao ao povo em geral . E assi m se supori a
natural mente que, para comear e at que se prove o contrri o, a
sati sfao que um xel i m proporci ona a um i ngl s equi val e sati sfao
que um xel i m proporci ona a outro i ngl s. Mas evi dente que i sso s
seri a razovel supondo que os consumi dores de ch e os consumi dores
de sal pertencessem s mesmas cl asses soci ai s e compreendessem pes-
soas de todos os temperamentos.
150
OS ECONOMISTAS
194
149 Harri s, no l i vro On Coins, 1757, di z: As coi sas so, em geral , aval i adas, no de acordo
com os seus usos reai s no supri mento das necessi dades do homem, mas em proporo
terra, ao trabal ho e habi l i dade que exi gi ram para produzi -l as. aproxi madamente de
acordo com essa proporo que as coi sas ou mercadori as so trocadas entre si ; e pri nci -
pal mente atravs da escal a menci onada que o val or i ntr nseco da mai ori a das coi sas
aval i ado. A gua de mui ta uti l i dade e, no entanto, tem habi tual mente pouco ou nenhum
val or, porque na mai ori a dos l ugares a gua brota espontaneamente em grande quanti dade
e no pode ser conti da nos l i mi tes de uma propri edade pri vada, de modo que todos podem
possui r sufi ci ente quanti dade de gua, sem mai ores despesas do que as de apanh-l a ou
transport-l a, quando a si tuao assi m o exi ge. Por outro l ado, como os di amantes so
mui to raros, tm por esse moti vo grande val or, embora no possuam grande uti l i dade.
150 Pode haver pessoas de al ta sensi bi l i dade que sofreri am especi al mente com a fal ta de sal
ou de ch; ou que fossem geral mente sens vei s e sofressem mai s com a perda de uma parte
de sua renda do que outras no mesmo estgi o da vi da. Mas admi ti r amos que essas di ferenas
i ndi vi duai s poderi am ser desprezadas, desde que consi derssemos em cada caso a mdi a
de grandes nmeros de pessoas; embora, natural mente, fosse necessri o consi derar se h
especi al razo para acredi tar, por exempl o, que aquel es que fazem mai or provi so de ch
formam uma cl asse de gente especi al mente sens vel . Se assi m fosse, dever-se-i a ter em
conta esse fato antes de apl i carmos os resul tados da anl i se econmi ca a probl emas prti cos
de moral e de pol ti ca.
I sso encerra a consi derao de que a sati sfao proporci onada
por 1 l i bra esterl i na a um pobre mui to mai or do que a proporci onada
pel a mesma quanti a a um homem ri co; e que, se em l ugar de compa-
rarmos o ch com o sal , que so uti l i zados em grande escal a por todas
as cl asses, comparssemos qual quer desses doi s arti gos com o cham-
panhe ou o abacaxi , a correo que ter amos que fazer com respei to a
essa consi derao seri a mui to i mportante, poi s que el a transformari a
total mente a natureza do nosso cl cul o. Nas geraes que nos prece-
deram, mui tos estadi stas, e mesmo al guns economi stas, dei xaram de
l evar em conta consi deraes dessa espci e, pri nci pal mente ao estabe-
l ecer si stemas de tri butao. Suas pal avras e seus atos pareci am i ndi car
uma fal ta de si mpati a para com o sofri mento das cl asses pobres, mas
o mai s das vezes tratava-se apenas de uma fal ta de refl exo.
No entanto, em geral , ocorre que a grande mai ori a dos aconte-
ci mentos de que trata a Economi a afeta em propores quase i guai s
as di ferentes cl asses da soci edade, de manei ra que, se as medi das
monetri as das sati sfaes ori gi nadas por doi s aconteci mentos so
i guai s, no exi ste, em geral , di ferena mui to grande entre as quanti -
dades de sati sfao obti das em ambos os casos. E por i sso que a
medi da exata do excedente do consumi dor num determi nado mercado
tem j mui to i nteresse teri co e pode ser de i mportnci a prti ca.
preci so notar, porm, que os preos da procura de cada mer-
cadori a, sobre os quai s aval i amos a uti l i dade total e o excedente do
consumi dor, pressupem que as outras condies permaneam inalte-
radas, enquanto o preo sobe at o val or de escassez; e, quando as
uti l i dades totai s de duas mercadori as que contri buem para o mesmo
objeti vo so cal cul adas segundo esse esquema, no podemos di zer que
a uti l i dade total de ambas seja i gual soma das uti l i dades totai s de
cada uma del as separadamente.
151
MARSHALL
195
151 Al gumas frases amb guas em edi es anteri ores parecem ter sugeri do ao l ei tor a opi ni o
contrri a, mas a tarefa de somar as uti l i dades totai s de todas as mercadori as, a fi m de
obter a soma da uti l i dade total de toda a ri queza, s se pode fazer medi ante frmul as
matemti cas das mai s compl i cadas. A tentati va, fei ta al guns anos atrs pel o autor, de
apl i car uma dessas frmul as, convenceu-o de que, embora a tarefa seja teori camente fact vel ,
o resul tado fi cari a sobrecarregado de tantas hi pteses que seri a i nti l na prti ca.
J chamamos a ateno para o fato de que, para al gumas fi nal i dades, mercadori as tai s
como o ch e o caf devem ser agrupadas, como se se tratasse de uma ni ca mercadori a,
poi s evi dente que, caso no fosse poss vel obter o ch, as pessoas aumentari am o consumo
de caf, e vi ce-versa. A perda que os consumi dores sofreri am ao serem pri vados ao mesmo
tempo de ch e de caf seri a mai or do que a soma das perdas que teri am ao serem pri vados
de um ou de outro. Portanto, a uti l i dade total do ch e do caf mai or do que a soma da
uti l i dade total do ch, cal cul ada segundo a suposi o de que os consumi dores poderi am
recorrer ao caf, e da do caf, cal cul ada sobre o mesmo pressuposto. Essa di fi cul dade pode
ser evi tada teori camente, agrupando-se as duas mercadori as ri vai s numa mesma tabel a
de procura. Se, por outro l ado, cal cul ssemos a uti l i dade total do combust vel com refernci a
ao fato de que sem el e no seri a poss vel obter gua quente para fazer das fol has de ch
a bebi da ch, seri a computar duas vezes a mesma coi sa, se acrescentssemos a esse cl cul o
a uti l i dade das fol has de ch, cal cul ada por esse mesmo processo. Da mesma manei ra, a
uti l i dade total de um produto agr col a compreende a dos arados, e as duas no podem
4. A essnci a de nossa argumentao no seri a afetada se ti -
vssemos em conta o fato de que, quanto mai s uma pessoa gasta em
qual quer coi sa, tanto menor o poder aqui si ti vo que l he resta para com-
prar mai or quanti dade da mesma ou de outras coi sas, e tanto mai or
ser para el a o val or do di nhei ro (em termos tcni cos, cada gasto novo
aumenta o val or margi nal do di nhei ro). Mas, embora a essnci a da
argumentao no fosse modi fi cada, sua forma fi cari a mai s i ntri ncada
sem que da provi esse nenhuma vantagem correspondente, poi s so
poucos os probl emas prti cos em que as correes a serem fei tas nesse
senti do teri am qual quer i mportnci a.
152
H, no entanto, al gumas excees. Por exempl o, como notou Si r.
R. Gi ffen, uma al ta no preo do po drena a tal ponto os recursos das
fam l i as operri as e el eva a tal ponto a uti l i dade margi nal do di nhei ro
para el as, que essas fam l i as fi cam obri gadas a reduzi r seu consumo
de carne e de al i mentos fari nceos mai s caros. E como, apesar de tudo,
o po o al i mento mai s barato que podem obter, em l ugar de di mi nui r
a quanti dade de po que consomem, passam a consumi -l o em mai or
quanti dade. Tai s casos, porm, so raros; quando os encontramos, cada
um del es deve ser tratado segundo seus prpri os mri tos.
J observamos que no poss vel cal cul ar exatamente que quan-
ti dade de uma coi sa as pessoas comprari am a preos mui to di versos
daquel es que esto habi tuadas a pagar; ou, em outros termos, qual
seri a o preo da procura dessa mercadori a para quanti dades mui to
di versas das que so vendi das habi tual mente. Nossa l i sta de preos
da procura , portanto, mui to conjectural , a no ser quando se aproxi ma
mui to do preo corrente, e as mel hores esti mati vas que podemos fazer
sobre a quanti dade total da uti l i dade de qual quer coi sa esto sujei tas
a grandes erros. Mas essa di fi cul dade no tem i mportnci a prti ca.
Com efei to, as pri nci pai s apl i caes da teori a do excedente do consu-
mi dor se rel aci onam com as transformaes que esse excedente sofre
quando o preo da mercadori a em questo vari a em redor do preo
corrente, quer di zer, requerem somente o uso de i nformao da qual
OS ECONOMISTAS
196
somar-se; se bem que a dos arados pode ser estudada em rel ao com um probl ema e a
do tri go em rel ao a outro. Mai s adi ante exami naremos outros aspectos dessas di fi cul dades.
(Li vro Qui nto. Cap. VI .)
O prof. Patten i nsi sti u sobre essa l ti ma di fi cul dade em al guns escri tos i dneos e si gni fi-
cati vos. Porm, sua tentati va de expri mi r a uti l i dade do conjunto de todas as formas da
ri queza parece no ter l evado em consi derao mui tas di fi cul dades.
152 Em l i nguagem matemti ca, di r-se-i a que os el ementos que foram abandonados pertencem
a grandezas i nfi ni tesi mai s. A l egi ti mi dade do mtodo ci ent fi co corrente, segundo o qual
so desprezadas, pareceri a fora de toda di scusso, se o professor Ni chol son no a ti vesse
contestado. O prof. Edgeworth, no Economical J ournal de maro de 1894, deu uma breve
resposta a essa contestao e o prof. Baroni , no Giornale degli Economisti de setembro de
1894, respondeu com mai ores detal hes, sendo o seu trabal ho ci tado por Mr. Sanger, no
Economical J ournal de maro de 1895.
Poder-se-i a l evar em conta de manei ra formal as mudanas na uti l i dade margi nal do di -
nhei ro, se assi m o desejssemos. Se tentssemos somar a uti l i dade total de todas as mer-
cadori as, ser amos obri gados a faz-l o: a tarefa , no entanto, i mprati cvel .
estamos bem supri dos. Essas observaes se apl i cam especi al mente
aos arti gos de pri mei ra necessi dade.
153
5. Exi ste outra ordem de consi deraes que so suscet vei s de
serem negl i genci adas ao esti mar-se a proporo em que o bem-estar
depende da ri queza materi al . No somente a fel i ci dade de uma pessoa
depende freqentemente mai s de sua sade f si ca, mental e moral do
que de suas condi es externas; mas, mesmo entre essas condi es,
mui tas que so de i mportnci a capi tal para uma fel i ci dade verdadei ra
so suscet vei s de omi sso no i nventri o de sua ri queza. Al gumas dessas
condi es so dons gratui tos da natureza e estas poderi am ser des-
prezadas sem grande i nconveni ente, caso fossem sempre as mesmas
para todo mundo, mas a verdade que el as vari am mui to de um l ugar
para outro. Mui tas del as, no entanto, so el ementos da ri queza col eti va,
que freqentemente so omi ti dos ao computar-se a ri queza i ndi vi dual ;
mas so de grande i mportnci a ao compararmos as di ferentes partes
do mundo ci vi l i zado moderno, e mai s ai nda quando comparamos nossa
poca com as pocas anteri ores.
A ao col eti va com o fi m de assegurar o bem-estar comum, como,
por exempl o, as empresas para i l umi nar as ruas, encanar a gua etc.,
ocupar-nos- no fi m de nossas pesqui sas. As associ aes cooperati vas
para a compra de mercadori as de consumo pessoal progredi ram mai s
na I ngl aterra do que em outros pa ses, mas as desti nadas compra
de coi sas que os fazendei ros e outros profi ssi onai s necessi tam para
seus fi ns mercanti s, at bem pouco tempo, no se ti nham desenvol vi do
MARSHALL
197
153 A noo de excedente do consumi dor pode nos ajudar um pouco agora e, quando nossos
conheci mentos estat sti cos ti verem progredi do, nos servi r mai s ai nda, para determi nar,
por exempl o, o preju zo que causari a ao pbl i co um i mposto adi ci onal de 6 pence em cada
l i bra de ch, ou um aumento de 10% nas tari fas ferrovi ri as. A i mportnci a da teori a no
se veri a di mi nu da pel o fato de no nos auxi l i ar a aval i ar o preju zo causado por uma taxa
de 30 xel i ns em cada l i bra de ch, ou por um aumento nos transportes de dez vezes o seu
preo atual .
Vol tando ao nosso l ti mo di agrama, podemos expri mi r essa i di a di zendo que, se A o
ponto da curva que corresponde quanti dade que habi tual mente se vende no mercado,
poss vel obter dados que nos permi tam traar a curva, com sufi ci ente correo, a al guma
di stnci a em torno de A, embora seja di f ci l traar a curva, com sufi ci ente grau de exati do,
at ati ngi r D. I sso no tem grande i mportnci a prti ca, porque nas pri nci pai s apl i caes
da teori a do val or raramente far amos uso do conheci mento de todos os val ores que cons-
ti tuem a forma total da curva da procura, se a ti vssemos. Conhecemos dessa curva o
necessri o para uti l i z-l a, i sto , temos um conheci mento sufi ci entemente exato dessa curva
nas proxi mi dades do ponto A. Raramente preci samos conhecer a rea total DCA; na mai ori a
dos casos basta conhecer as modi fi caes que essa rea sofreri a ao desl ocar A a pequenas
di stnci as, em qual quer di reo. No entanto, ser cmodo supor, provi sori amente (coi sa
que, em teori a pura, temos l i berdade de fazer), que a curva esteja traada compl etamente.
H, no entanto, uma di fi cul dade especi al que surge quando pretendemos aval i ar o total
da uti l i dade das mercadori as de pri mei ra necessi dade. Ao tentarmos faz-l o, o mel hor pl ano
seri a tal vez dar por admi ti do que se di spe da oferta necessri a para o consumo, e cal cul ar
a uti l i dade total apenas para a parte que excede essa quanti dade. Devemos, no entanto,
nos l embrar que o desejo de al guma coi sa depende mui to da di fi cul dade que exi ste em
substi tu -l a por outra.
na I ngl aterra. Os doi s ti pos so, por vezes, descri tos como cooperati vas
de consumo, mas trata-se, na verdade, de associ aes para economi zar
esforo em determi nados ramos de negci os e pertencem antes ao ca-
p tul o da produo que ao do consumo.
6. Quando fal amos de dependnci a do bem-estar em rel ao
ri queza materi al , referi mo-nos ao fl uxo, ou corrente de bem-estar, me-
di do pel o fl uxo ou corrente das ri quezas, aval i adas sob a forma da
ri queza que i ngressa e o conseqente poder, da resul tante, de us-l a
e consumi -l a. A ri queza que uma pessoa possui l he proporci ona, atravs
da sua uti l i zao e de outros mei os, uma soma de sati sfao entre as
quai s, natural mente, preci so contar o prazer da posse. H, porm,
pouca l i gao di reta entre o total da ri queza possu da e a soma de
sati sfao de que goza o seu possui dor, e por esse moti vo que, neste
cap tul o e nos que o precederam, fal amos das cl asses ri cas, mdi as e
pobres, como de cl asses possui doras respecti vamente de grandes, m-
di as e pequenas rendas, no de propri edades.
De acordo com uma sugesto fei ta por Dani el Bernoul l i , podemos
consi derar que a sati sfao que uma pessoa obtm graas a sua renda
comea quando possui o sufi ci ente para se manter, aumentando depoi s
proporci onal mente com as percentagens sucessi vas em que aumenta
sua renda e di mi nui ndo em proporo di mi nui o desta.
154
OS ECONOMISTAS
198
154 I sso si gni fi ca que, se 30 l i bras esterl i nas representam a soma estri tamente necessri a para
vi ver, a sati sfao que uma pessoa obtm com a sua renda comea nesse ponto; quando
ati nge 40 l i bras, toda l i bra supl ementar acrescenta 1/10 s 10 l i bras que representam o
poder de sati sfao da di ta renda. Mas se a renda fosse de 100 l i bras, ou seja, 70 l i bras
aci ma do i ndi spensvel para vi ver, seri a necessri o aumentar 7 l i bras para que se obti vesse
uma sati sfao i gual que proporci ona 1 l i bra numa renda de 40 l i bras. E se esta fosse
de 10 mi l l i bras seri am necessri as 1 000 l i bras adi ci onai s para produzi r o mesmo efei to.
Natural mente, essas aval i aes so mui to al eatri as e i nsuscet vei s de se adaptarem s
ci rcunstnci as vari vei s da vi da i ndi vi dual . Como veremos mai s adi ante, os si stemas tri -
butri os que preval ecem atual mente basei am-se geral mente na sugesto de Bernoul l i . Os
si stemas anteri ores exi gi am dos pobres mui to mai s do que deveri am pagar conforme esse
esquema, enquanto os si stemas de i mposto progressi vo, que comeam agora a ser uti l i zados
em di ferentes pa ses, so, at certo ponto, baseados na i di a de que um aumento de 1%
numa renda mui to grande, representa menos para o bem-estar do possui dor dessa renda
do que o mesmo aumento fei to numa renda di mi nuta, mesmo depoi s de ter si do fei ta a
correo, proposta por Bernoul l i , de deduzi r o m ni mo i ndi spensvel subsi stnci a.
Poder-se-i a menci onar aqui que da l ei geral , segundo a qual a uti l i dade que representa
um aumento de renda no val or de 1 l i bra esterl i na di mi nui com o nmero de l i bras que
j se possui , pode-se deduzi r doi s pri nc pi os i mportantes na prti ca. O pri mei ro que o
jogo acaba sempre por representar uma perda econmi ca, mesmo que se real i ze em condi es
justas e i guai s para os parti ci pantes. Por exempl o, um homem que possua 600 l i bras
esterl i nas e faa uma aposta razovel de 100 l i bras tem a esperana de uma sati sfao
equi val ente medi da da que teri a se possu sse 700 l i bras, e metade da que teri a se
possu sse 500 l i bras, e i sso menos do que a expectati va certa da sati sfao que teri a das
suas 600 l i bras, porque, por hi ptese, a di ferena entre a sati sfao proporci onada por 600
e 500 l i bras mai or do que a di ferena entre a sati sfao obti da com 700 e 600 l i bras.
(Ver JEVONS. loc. cit. cap. I V.) O segundo pri nc pi o, que a rec proca do precedente,
que um seguro contra ri scos, teori camente justo, representa sempre um ganho econmi co.
Natural mente todas as agnci as de seguro, depoi s de ter cal cul ado um prmi o teori camente
justo, fazem um acrsci mo correspondente aos l ucros do seu prpri o capi tal e s suas
Depoi s de certo tempo, porm, as novas ri quezas perdem grande
parte de seu encanto. I sso resul ta, em parte, do hbi to que faz com
que as pessoas dei xem de ter prazer no l uxo e no conforto a que esto
acostumadas, embora sofram mui to, caso venham a perd-l os. Resul ta
tambm do fato de que o aumento da ri queza vem geral mente acom-
panhado ou do cansao da i dade ou, pel o menos, de um aumento da
tenso nervosa; tal vez mesmo se formem hbi tos de vi da que l evam
a um enfraqueci mento da vi tal i dade f si ca e que di mi nuem a capaci dade
de gozar a vi da.
Em todos os pa ses ci vi l i zados encontram-se adeptos da doutri na
budi sta de que uma sereni dade pl ci da o mai s al to i deal da vi da;
de que o papel do sbi o o de el i mi nar da sua natureza o mai or
nmero poss vel de desejos e necessi dades; de que as verdadei ras ri -
quezas no consi stem na posse de grande quanti dade de bens mas na
escassez de necessi dades. No outro extremo, temos os que mantm a
i di a de que o aumento de necessi dades e desejos sempre benfi co
porque esti mul a as pessoas a aumentar seus esforos. Parecem i nci di r
no erro, como di sse Herbert Spencer, de supor que se vi ve para tra-
bal har em l ugar de trabal har para vi ver.
155
A verdade parece ser que, sendo a natureza humana o que el a
, o homem degenera rapi damente a no ser que tenha al gum trabal ho
rduo a fazer, al gumas di fi cul dades a vencer, e que o esforo tenaz
necessri o sade f si ca e moral . Para vi ver pl enamente, preci so
desenvol ver e fazer agi r o mai or nmero poss vel de facul dades, e o
mai or nmero poss vel de facul dades el evadas. H um prazer i ntenso
em l utar por um i deal , quer se trate de sucesso nos negci os, progresso
art sti co ou ci ent fi co, quer da mel hori a das condi es de vi da de nossos
semel hantes. Nos mai ores trabal hos construti vos, de qual quer espci e
que seja, os per odos de exci tao al ternam freqentemente com pe-
r odos de l assi do e estagnao; mas, para as pessoas comuns, para
aquel as que no tm grandes ambi es, uma renda moderada, ganha
por um trabal ho cal mo e estvel , oferece a mel hor oportuni dade para
o desenvol vi mento daquel es hbi tos corporai s, i ntel ectuai s e espi ri tuai s
que so os ni cos capazes de proporci onar uma fel i ci dade verdadei ra.
Em todas as cl asses da soci edade se faz al gum mau uso da ri -
queza. Embora, fal ando de manei ra geral , possamos di zer que todo
aumento da ri queza nas cl asses operri as contri bui para a pl eni tude
e nobreza da vi da humana, porque esse aumento em grande parte
apl i cado na sati sfao de necessi dades reai s, ai nda assi m, mesmo entre
MARSHALL
199
despesas de admi ni strao, nas quai s i ncl uem por vezes somas el evadas, como as que
correspondem publ i ci dade e s perdas resul tantes de fraudes. O caso de se saber se val e
a pena pagar o prmi o que a companhi a de seguros cobra na prti ca, uma questo que
deve ser resol vi da em cada caso, segundo as condi es parti cul ares do momento.
155 Veja-se a sua confernci a sobre The Gospel of Relaxation.
os operri os i ngl eses e tal vez ai nda mai s nos pa ses novos, h si ntomas
que fazem temer o desenvol vi mento, entre os operri os, do desejo mal -
so da ri queza com fi nal i dades de ostentao, desejo que consti tui u o
pri nci pal fl agel o das cl asses ri cas de todos os pa ses ci vi l i zados. As
l ei s contra o l uxo foram sempre i ntei s, mas seri a de grande vantagem
que o senti mento moral da col eti vi dade pudesse l evar os i ndi v duos a
evi tar toda a espci e de ostentao da ri queza parti cul ar. Exi stem real -
mente prazeres verdadei ros e di gnos que podem ser obti dos atravs
de uma magni fi cnci a sabi amente organi zada; mas, para i sso, preci so
que el a esteja desti tu da de toda a vai dade pessoal e da i nveja, como
o caso, por exempl o, quando essa magni fi cnci a se mani festa atravs
da construo de edi f ci os pbl i cos, de parques, de col ees pbl i cas
de bel as-artes e de di verti mentos pbl i cos. Desde que a ri queza seja
uti l i zada para proporci onar s fam l i as o necessri o vi da e cul tura,
e uma abundnci a de formas el evadas de di verti mentos col eti vos, a
procura da ri queza um fi m nobre, e os prazeres que proporci ona
tendem provavel mente a aumentar medi da que aumentam essas
formas de ati vi dade superi or, a cujo progresso el a serve.
Desde que as necessi dades pri mordi ai s da exi stnci a estejam as-
seguradas, todos deveri am procurar aumentar as coi sas que possuem,
em bel eza, e no em magni fi cnci a e quanti dade. A mel hori a do carter
art sti co do mobi l i ri o e das roupas trei na as facul dades mai s el evadas
daquel es que as confecci onam e consti tui uma fonte de fel i ci dade cres-
cente para os que as uti l i zam; mas se, em l ugar de procurar um padro
mai s el evado de bel eza, gastarmos o aumento de nossos recursos em
aumentar em compl exi dade e nmero os nossos bens domsti cos, no
teremos nenhum benef ci o verdadei ro, nenhuma fel i ci dade duradoura.
O mundo estari a mui to mel hor se todos adqui ri ssem objetos mai s si m-
pl es e em menor quanti dade. Se se dessem ao trabal ho de escol her
esses objetos por sua bel eza real , tomando natural mente cui dado em
adqui ri r objetos de boa qual i dade, preferi ndo natural mente poucas coi -
sas bem-fei tas, e fei tas por operri os bem pagos, a mui tas coi sas fei tas
por operri os mal remunerados.
Mas estamos sai ndo do campo prpri o deste l i vro. A di scusso
da i nfl unci a sobre o bem-estar geral , exerci da pel a manei ra como o
i ndi v duo gasta a sua renda, uma das mai s i mportantes contri bui es
da ci nci a econmi ca arte de vi ver.
OS ECONOMISTAS
200
LIVRO QUARTO
Os Agentes de Produo:
Terra, Trabalho, Capital e Organizao
CAPTULO I
Introduo
1. Os agentes de produo cl assi fi cam-se, comumente, em terra,
trabal ho e capi tal . Por terra se entende a matri a e as foras que a
natureza oferece l i vremente para ajudar o homem, em terra e gua,
em ar e l uz e cal or. Trabal ho o esforo econmi co do homem, seja
com a mo ou com o crebro.
156
Por capi tal se entende toda a provi so
acumul ada para a produo de bens materi ai s, e para a obteno desses
benef ci os que so comumente computados como parte da renda. a
quanti dade de ri queza acumul ada consi derada antes um agente de
produo que fonte di reta de sati sfao.
O capi tal consi ste, em grande parte, em conheci mento e organi -
zao: desta, uma parte propri edade pri vada, outra no. O conheci -
mento nossa mai s potente mqui na de produo: habi l i ta-nos a sub-
meter a natureza e for-l a a sati sfazer nossas necessi dades. A orga-
ni zao ajuda o conheci mento; el a apresenta mui tas formas, a saber,
a organi zao de empresas i ndi vi duai s, a de vri as empresas num
mesmo ramo, a de vri os negci os uns rel ati vamente aos outros, e a
organi zao do Estado provendo segurana para todos e ajuda para
mui tos. A di sti no entre propri edade pbl i ca e propri edade pri vada,
no que se refere ao conheci mento e organi zao, de grande e cres-
cente i mportnci a, sob certos aspectos de i mportnci a mai or do que a
mesma di sti no, do ponto de vi sta das coi sas materi ai s. Em parte
por essa razo parece por vezes mel hor admi ti r a organi zao como
203
156 O trabal ho cl assi fi cado como econmi co desde que el e efetuado parci al ou total mente
tendo em vi sta al guma coi sa al m do prazer del e di retamente deri vado. Ver Li vro Segundo.
Cap. I I I , 2. Um trabal ho mental que no tende di reta ou i ndi retamente para promover
produo materi al , por exempl o, o do escol ar nas suas tarefas, posto de l ado, poi s que
estamos l i mi tando a nossa ateno produo, no senti do comum do termo. Sob certos
pontos de vi sta, mas no de todos, as expresses terra, trabal ho, capi tal seri am mai s
si mtri cas se se entendesse como trabal ho os trabal hadores, i sto , a Humani dade. Ver
WALRAS. conomie Politique Pure. l i . 17. FI SHER, prof. Economic J ournal. VI . p. 529.
um agente de produo parte e di sti nto. No ser poss vel exami n-l o
compl etamente seno num estgi o mai s avanado do nosso estudo,
mas al go tem que ser di to no presente l i vro.
Num certo senti do, h apenas doi s agentes de produo, a na-
tureza e o homem. O capi tal e a organi zao so resul tado do trabal ho
do homem ajudado pel a natureza, e di ri gi do pel o seu poder de prever
o futuro e sua vontade de fazer provi so para el e. Dados o carter e
os poderes da natureza e do homem, o cresci mento da ri queza, do
conheci mento e da organi zao seguem-nos como o efei to causa. Mas,
por outro l ado, o homem em si l argamente formado pel o seu mei o
ci rcundante, no qual a natureza desempenha um grande papel : e assi m,
de qual quer ponto de vi sta, o homem o centro do probl ema da pro-
duo, como do de consumo: e tambm desse outro probl ema das re-
l aes entre os doi s, que toma o dupl o nome de di stri bui o e troca.
O cresci mento da humani dade em nmero, em sade e fora, em
conheci mentos, habi l i dade e em pujana de carter o fi m de todos
os nossos estudos; mas um fi m para o qual a Economi a no pode con-
tri bui r seno com al guns el ementos i mportantes. Nos seus mai s l argos
aspectos, se o estudo desse cresci mento tem al gum l ugar num tratado
de Economi a, ser no fi m, no propri amente aqui . Contudo, no po-
demos dei xar de exami nar o homem como agente di reto da produo,
e as condi es que governam sua efi ci nci a como produtor. Afi nal , o
curso mai s conveni ente, e o mai s conforme com a tradi o i ngl esa,
tal vez l evar em certa conta o cresci mento da popul ao em nmero e
carter como parte do estudo geral da produo.
2. No poss vel nesta etapa de nosso estudo seno i ndi car
mui to l i gei ramente as rel aes gerai s entre a procura e a oferta, entre
o consumo e a produo. Mas pode convi r, enquanto a anl i se da uti -
l i dade e do val or est fresca em nossas mentes, l anar um breve gol pe
de vi sta para as rel aes entre o val or e a i ncomodi dade ou di fi cul dade
que preci so vencer para l ograr esses bens, que tm val or porque, a
um tempo, so desejvei s e di f cei s de obter. Tudo o que pode ser di to
agora deve ser provi sri o, e pode mesmo parecer que estamos apre-
sentando di fi cul dades em vez de resol v-l as, mas haver vantagem em
ter di ante de ns um mapa do terreno a percorrer, mesmo num esboo
l i gei ro e i ncompl eto.
Enquanto a procura baseada no desejo de obter mercadori as, a
oferta se basei a sobretudo na superao da rel utnci a em suportar in-
comodi dades. Estas so geral mente de duas ordens: o trabal ho, e o sa-
cri f ci o que exi ste em adi ar um consumo. sufi ci ente aqui dar um esboo
do papel do trabal ho corrente na oferta. Ver-se- em segui da que obser-
vaes semel hantes, mas no exatamente as mesmas, podem ser fei tas
sobre o trabal ho de di reo e o sacri f ci o que envol ve (al gumas vezes, no
sempre) na espera exi gi da para a acumul ao dos mei os de produo.
OS ECONOMISTAS
204
A i ncomodi dade do trabal ho pode surgi r da fadi ga f si ca ou men-
tal , ou de ser l evado a efei to em mei os i nsal ubres, ou em companhi as
desagradvei s, ou de absorver tempo que era desejado para recreao
ou ocupaes soci ai s e i ntel ectuai s. Qual quer que seja, porm, a forma
da i ncomodi dade, sua i ntensi dade cresce sempre aproxi madamente com
a rudeza e a durao do trabal ho.
certo que mui to esforo despendi do por si mesmo, como por
exempl o no al pi ni smo, nos jogos e nas ati vi dades da l i teratura, da arte
e da ci nci a; e mui to trabal ho rude fei to sob a i nfl unci a do desejo
de benefi ci ar o prxi mo.
157
Mas o mvel mai s freqente e pri nci pal do
trabal ho, no senti do em que empregamos essa pal avra, o desejo de
obter al guma vantagem materi al , que no estado atual do mundo se
apresenta geral mente sob a forma do ganho de uma certa soma de
di nhei ro. verdade que, mesmo trabal hando por sal ri o, o homem
freqentemente encontra prazer no seu trabal ho, mas geral mente fi ca
to cansado depoi s que o faz, que se al egra quando chega a hora de
parar. Afastado do trabal ho por al gum tempo, tal vez, no que toca ao
seu i medi ato prazer, el e prefi ra trabal har de graa a nada fazer; mas
no estar di sposto a degradar o seu mercado, mai s do que fari a um
i ndustri al , oferecendo o que tem a vender por preo abai xo do normal .
Sobre esse assunto mui to ser preci so di zer em outro vol ume.
Em l i nguagem tcni ca, i sso pode ser chamado a desutilidade mar-
ginal (marginal disutility) do trabal ho. Porque, tal como a uti l i dade
margi nal cai a cada aumento da quanti dade de uma mercadori a; e
como a cada perda da sua desejabi l i dade, h uma bai xa no preo para
o total da mercadori a, e no apenas para a sua l ti ma poro; assi m
a desuti l i dade margi nal do trabal ho geral mente aumenta a cada au-
mento em sua quanti dade.
A rel utnci a de al gum j ocupado em aumentar seus esforos
se basei a, em condi es normai s, em pri nc pi os fundamentai s da na-
tureza humana que os economi stas devem acei tar como fatos essenci ai s.
Como observa Jevons,
158
h freqentemente al guma resi stnci a a ser
superada antes de se enfrentar o trabal ho. Um esforo um tanto penoso
MARSHALL
205
157 Vi mos (Li vro Tercei ro. Cap. VI , 1) que, se uma pessoa faz o total de suas compras
justamente ao preo que el a estava di sposta a pagar pel as suas l ti mas compras, el a aufere
um excedente de sati sfao sobre o grosso das mesmas, desde que as obtm por menos do
que pagari a a fi m de no fi car sem el as. Tambm, se o preo pago a el a para fazer um
trabal ho uma remunerao adequada para a parte mai s dura do seu trabal ho: e se, como
geral mente acontece, o mesmo pagamento dado para a parte menos desagradvel e de
menor custo real : ento el a obtm, nessa parte, um excedente do produtor (producers
surplus).
A rel utnci a do trabal hador em vender o seu trabal ho por menos que o seu preo normal
se assemel ha dos fabri cantes em degradar o seu mercado, forando as vendas a bai xo
preo; ai nda que, numa transao parti cul ar, el es preferi ssem o preo bai xo a terem seus
estabel eci mentos fabri s parados.
158 Theory of Political Economy. Cap. V. Essa teori a tem si do real ada e desenvol vi da em
mui tos pontos por economi stas austr acos e ameri canos.
se i mpe no comeo, mas gradual mente bai xa a zero, e substi tu do
pel o prazer que aumenta por um certo tempo at que ati nge um m-
xi mo, depoi s do qual di mi nui at zero e sucedi do por um crescente
enfado e uma ansi edade de abandono e de mudana. No trabal ho i n-
tel ectual , contudo, o prazer e a exci tao, uma vez tenham comeado
a fazer-se senti r, seguem aumentando at que se contenham por ne-
cessi dade ou prudnci a. Toda gente com sade tem uma certa provi so
de energi a da qual pode aprovei tar-se, mas que s se pode restaurar
com o repouso, e assi m, se o di spndi o excede a reserva, a sade se
abal a; e os empregadores freqentemente constatam que, em casos de
grande necessi dade, um aumento temporri o de sal ri os i nduzi r os
seus empregados a dar uma soma de trabal ho que el es no sustentaro
mui to tempo, por mai s que paguem por el e. Uma razo di sso que a
necessi dade de descanso se torna mai s urgente a cada aumento nas
horas de trabal ho, depoi s de um certo l i mi te. O desprazer do trabal ho
adi ci onal aumenta, em parte porque, medi da que o tempo dei xado
para repouso e outras ati vi dades di mi nui , o prazer do tempo l i vre
adi ci onal aumenta.
Sob condi o desses e de outros requi si tos, de manei ra geral
verdade que os esforos que um grupo de operri os far crescem ou
caem com a al ta ou bai xa na remunerao que se l hes oferece. Tal
como o preo preci so para atrai r compradores para qual quer quanti dade
dada de uma mercadori a foi chamado o preo de procura para essa
quanti dade durante um ano ou qual quer outro per odo dado, assi m o
preo necessri o para mobi l i zar o sacri f ci o necessri o para produzi r
qual quer quanti dade dada de uma mercadori a pode ser chamado o
preo de oferta para essa quanti dade durante o mesmo tempo. Se por
enquanto admi ti mos que a produo depende uni camente dos esforos
de um certo nmero de trabal hadores, j exi stentes e trei nados para
o seu mi ster, obteremos uma l i sta dos preos de oferta correspondente
dos preos de procura de que j nos ocupamos. Essa l i sta mostrari a
teori camente, numa col una, vri as quanti dades de trabal ho e poi s de
produo; e noutra col una paral el a os preos que devem ser pagos
para i nduzi r os operri os a despender tai s somas de esforos.
159
Mas esse mtodo si mpl es de tratar da oferta de trabal ho de qual -
quer natureza, e conseqentemente da oferta de bens fei tos por el e,
supe que o nmero dos aptos a fornec-l o fi xo; e essa suposi o s
se pode fazer por per odos curtos. O nmero total de pessoas vari a
sob a ao de mui tas causas. Destas, somente al gumas so econmi cas,
mas entre el as a remunerao mdi a do trabal ho tem uma posi o
proemi nente, embora sua i nfl unci a no cresci mento do nmero seja
i ncerta e i rregul ar.
OS ECONOMISTAS
206
159 Ver aci ma Li vro Tercei ro. Cap. I I I , 4.
A di stri bui o da popul ao entre as di ferentes profi sses, porm,
mui to mai s sujei ta i nfl unci a de causas econmi cas. A l ongo prazo,
a oferta de trabal ho numa determi nada ati vi dade mai s ou menos
estrei tamente adaptada sua procura: os pai s previ dentes preparam
os seus fi l hos para as ocupaes mai s vantajosas s quai s el es prpri os
tm acesso; i sto , para as que oferecem mel hor compensao, em sa-
l ri os e outras vantagens, a um trabal ho que no seja mui to rduo
em quanti dade ou carter e dependa de um preparo que no seja mui to
di f ci l de adqui ri r. Esse ajustamento entre a procura e a oferta nunca
pode ser perfei to; as fl utuaes da procura podem faz-l o mui to mai or
ou mui to menor, por um momento, e mesmo por mui tos anos, do que
o que seri a exatamente necessri o para l evar os pai s a escol her para
seus fi l hos uma dada ocupao, de prefernci a a al guma outra da mes-
ma cl asse. Portanto, ai nda que a remunerao que se possa al canar
por qual quer espci e de trabal ho em qual quer tempo, tem certa rel ao
com a di fi cul dade em adqui ri r a necessri a habi l i dade, combi nada com
o esforo, o enfado, a perda de l azer etc., exi stente no prpri o trabal ho,
ai nda que essa rel ao esteja sujei ta a grandes vari aes. O estudo
dessas vari aes uma tarefa di f ci l ; el e mui to nos ocupar, adi ante,
em nosso trabal ho. Mas o presente l i vro sobretudo descri ti vo e l evanta
poucos probl emas di f cei s.
MARSHALL
207
CAPTULO II
A Fertilidade da Terra
1. Di z-se comumente que os requi si tos da produo so a terra,
o trabal ho e o capi tal , compreendendo o capi tal as coi sas materi ai s
que devem sua uti l i dade ao trabal ho do homem, e a terra tudo aqui l o
que nada deve a este. A di sti no evi dentemente i mpreci sa: os ti jol os,
por exempl o, nada mai s so do que peas de terra l i gei ramente el a-
boradas; e o sol o dos vel hos pa ses foi trabal hado, na sua mai or parte,
mui tas vezes pel o homem, a quem deve a sua forma presente. H
contudo um pri nc pi o ci ent fi co na base dessa di sti no. Embora o ho-
mem no tenha poder de cri ar a matri a, el e cri a uti l i dades dando s
coi sas uma forma ti l
160
e as uti l i dades produzi das por el e podem ser
aumentadas se a procura aumenta: el as tm um preo de oferta. Mas
h outras uti l i dades sobre cuja oferta o homem no tem control e: so
ofereci das em quanti dades fi xas pel a natureza e portanto no tm preo
de oferta. A pal avra terra tem si do empregada pel os economi stas de
manei ra a i ncl ui r as fontes permanentes dessas uti l i dades,
161
quer se-
jam encontradas na terra no senti do comum da pal avra ou nos mares
e ri os, na l uz do sol ou na chuva, nos ventos ou nas cachoei ras.
Se pesqui sarmos o que di sti ngue a terra dessas coi sas materi ai s
que consi deramos produto seu, constataremos que o atri buto funda-
mental da terra a sua extenso. O di rei to de uti l i zar um pedao de
terra proporci ona dom ni o sobre um certo espao uma certa parte
da superf ci e terrestre. A rea da terra fi xa, as rel aes geomtri cas
em que uma parte se encontra com as demai s so fi xas. O homem no
209
160 Ver Li vro Segundo. Cap. I I I .
161 Na frase famosa de Ri cardo as potenci al i dades ori gi nai s e i ndestrut vei s do sol o. Von
Thnen, numa notvel di scusso dos fundamentos da teori a da renda e das concepes de
Adam Smi th e Ri cardo sobre el a, fal a de Der Boden an sich;
*
uma frase que l amentavel mente
no pode ser traduzi da, mas que si gni fi ca o sol o como seri a em si mesmo, se no fosse
al terado pel a ao do homem (Der I solierte Staat. I , i , 5).
*
O sol o em si . (N. dos T.)
tem poder sobre el as, escapam i ntei ramente i nfl unci a da procura;
el as no tm custo de produo, no h preo de oferta ao qual possam
ser produzi das.
O uso de uma certa rea da superf ci e terrestre a condi o
pri mri a de qual quer coi sa que o homem possa fazer: d-l he l ocal para
as suas prpri as aes, com o gozo do cal or, da l uz, do ar e da chuva
que a natureza di stri bui a essa rea, e determi na a di stnci a e, em
grande parte, as suas rel aes com outras coi sas e outras pessoas.
Veremos que essa pecul i ari dade da terra, apesar da pouca i mportn-
ci a que l he tem si do dada at o momento, a causa l ti ma da di sti no
que todos os economi stas so obri gados a fazer entre a terra e as
outras coi sas. o fundamento de mui tas das questes mai s i nteres-
santes e mai s di f cei s na ci nci a econmi ca.
Al gumas partes da superf ci e terrestre contri buem para a pro-
duo pri nci pal mente pel os servi os que prestam navegao, outras
tm val or sobretudo para a mi nerao, outras conquanto essa escol ha
seja fei ta mai s pel o homem que i mposta pel a natureza para edi fi -
cao. Mas quando fal amos da produti vi dade da terra, l ogo pensamos
na sua uti l i zao agr col a.
2. Para o agri cul tor, uma rea de terra o mei o para manter
uma certa quanti dade de vegetai s, e tal vez por fi m de ani mai s. Para
esse objeti vo, o sol o deve ter certas qual i dades mecni cas e qu mi cas.
Do ponto de vi sta mecni co, o sol o deve ser bastante permevel
para permi ti r que as m ni mas ra zes possam penetr-l o desembaraa-
damente, e tambm sufi ci entemente compacto de modo a l hes dar um
fi rme sustentcul o. No deve dar gua uma passagem demasi ado
fci l , como certos sol os arenosos, porque caso contrri o ser sempre
seco e o al i mento da pl anta ser arrastado l ogo que se forme no sol o
ou nel e seja col ocado. Nem deve, como os argi l osos, i mpedi r a passagem
da gua. Poi s essenci al ao sol o receber sempre gua e o ar que esta
conduz, el ementos que convertem em al i mentos para a pl anta os mi -
nerai s e gases que de outra sorte seri am i ntei s ou mesmo perni ci osos.
A ao do ar fresco, da gua e das geadas a l avra natural do sol o.
Mesmo sem ajuda, bastari am com o tempo para tornar frtei s quase
todas as partes da superf ci e da Terra, se o sol o que preparam fi casse
no l ugar sem as conseqnci as da eroso causada pel as enxurradas.
Mas o homem d um grande adjutri o na preparao mecni ca do
sol o. O pri nci pal objeti vo de sua l avra ajudar a natureza a habi l i tar
o sol o para dar s ra zes da pl anta um estei o suave mas sl i do, e
faci l i tar a l i vre fi l tragem do ar e da gua. O esterco desagrega os sol os
argi l osos e os faz mai s l eves e abertos, enquanto aos sol os arenosos
d uma contextura de que mui to necessi tam, e os ajuda, tanto mecni ca
quanto qui mi camente, a reter as matri as nutri ti vas que de outra sorte
seri am prontamente removi das pel a gua.
OS ECONOMISTAS
210
Do ponto de vi sta qu mi co, o sol o deve conter os el ementos i nor-
gni cos de que as pl antas carecem, numa forma absorv vel para estas.
Em al guns casos o homem pode real i zar uma grande al terao com
pouco trabal ho. Pode transformar um sol o estri l em frti l , adi ci onando
uma pequena quanti dade preci samente do el emento que l he fal tava;
uti l i zando em mui tos casos seja os ferti l i zantes cal cri os em suas ml -
ti pl as formas, seja os adubos arti fi ci ai s que a moderna ci nci a qu mi ca
tem consegui do em grande vari edade; e hoje est convocando as bac-
tri as para ajud-l o no seu l abor.
3. Por todos esses mei os a ferti l i dade do sol o pode ser posta
sob control e do homem. Com um trabal ho sufi ci ente, pode, quase que
de qual quer terra, obter col hei tas abundantes. Pode preparar o sol o,
mecni ca e qui mi camente, para qual quer cul tura que entenda. Pode
adaptar as suas cul turas natureza do sol o, ou este quel as, escol hendo
uma rotao de cul turas que dei xe o sol o l i vre em tal estado e na fase
conveni ente do ano para ser apropri adamente l avrado, com faci l i dade
e sem perda de tempo, para a semeadura segui nte. Pode mesmo mo-
di fi car permanentemente a natureza do sol o, drenando-o, ou mi stu-
rando outro sol o que supra suas defi ci nci as. At aqui , tal no tem
si do prati cado seno em pequena escal a: a greda e o cal cri o, a argi l a
e a marga no esto espal hados nos campos seno em pequenas quan-
ti dades. Raramente se ter fei to um sol o compl etamente novo, exceto
nos jardi ns e outros terrenos pri vi l egi ados. Mas poss vel e mesmo
provvel , como pensam al guns, que no futuro os aparel hos mecni cos
que servem para abri r ferrovi as e fazer outros grandes movi mentos
de terra possam ser apl i cados em l arga escal a no preparo de um sol o
ri co pel a mi stura de doi s sol os pobres com defi ci nci as opostas.
Todas essas transformaes se efetuaro no futuro de manei ra mai s
ampl a e mai s compl eta do que no passado. Mas j hoje a mai or parte do
sol o nos vel hos pa ses deve mui to do seu carter ao humana. Tudo
o que jaz l ogo abai xo da superf ci e contm uma grande soma de capi tal ,
produto do trabal ho do homem no passado. Aquel es dons gratui tos da
natureza que Ri cardo qual i fi cou como i nerentes e i ndestrut vei s pro-
pri edades do sol o, foram l argamente al terados, em parte empobreci dos e
em parte enri queci dos pel o trabal ho de mui tas geraes.
Mas outra coi sa acontece com o que est aci ma da superf ci e. A
cada acre foi dada pel a natureza uma quanti dade anual de cal or e de
l uz, de ar e de umi dade, e sobre esses el ementos o homem no tem
quase poder al gum. El e pode, na verdade, al terar um pouco o cl i ma
por extensos trabal hos de drenagem ou de pl antao ou derrubada de
fl orestas. Mas, em suma, a ao do sol , do vento e da chuva uma
anui dade fi xada pel a natureza para cada pedao de terra. A propri edade
da terra d a posse dessa anui dade, e tambm, a do espao requeri do
MARSHALL
211
para a vi da e a ao dos vegetai s e dos ani mai s, sendo o val or desse
espao mui to dependente da sua posi o geogrfi ca.
Podemos ento prossegui r usando a di sti no comum entre propri e-
dades ori gi nri as ou i nerentes, que a terra deri va da natureza, e propri e-
dades arti fi ci ai s, que a terra deve ao humana, com a condio de que
l embremos que as pri mei ras compreendem as rel aes espaci ai s do terreno
em questo, e a anui dade que a natureza l he concede de l uz sol ar, ar e
chuva, que, em mui tos casos, so as pri nci pai s propri edades i nerentes do
sol o. Del as pri nci pal mente advm a i mportnci a pecul i ar da propri edade
agr col a e o carter especi al da Teori a da Renda.
4. A questo de saber em que medi da a ferti l i dade do sol o
devi da s propri edades naturai s ori gi nri as ou s al teraes fei tas pel o
homem, no pode ser exami nada sem ter em conta a espci e de produtos
que a terra d. A i nterfernci a humana pode fazer mui to mai s para
promover o desenvol vi mento de certas cul turas do que de outras. Numa
extremi dade da escal a esto as rvores fl orestai s; um carval ho bem
pl antado e com abundnci a de espao tem pouco a ganhar com a ajuda
do homem: no h apl i cao pl aus vel de trabal ho capaz de obter con-
si dervel rendi mento. Quase a mesma coi sa se pode di zer da rel va
nas bai xadas de ri os, dotadas de um sol o ri co e de boa drenagem
natural ; os ani mai s sel vagens que se al i mentam dessa rel va no cui -
dada pel o homem, expl oram-na tanto quanto este. Grande parte do
sol o das mai s ri cas fazendas da I ngl aterra (as que pagam uma renda
de 6 l i bras esterl i nas e mai s por acre) produzi ri am quase tanto sem
nenhuma ajuda natureza. Em segui da vm os terrenos que, embora
no to ri cos, so ai nda manti dos em pastagens permanentes; e depoi s
vm as terras arvei s, nas quai s o homem no confi a a semeadura
natureza, mas prepara conveni entemente o campo de acordo com o
gnero de cul tura, l ana el e prpri o a semente e arranca as pl antas
noci vas. As sementes que pl anta so sel eci onadas pel a sua precoce
maturi dade e pel o i ntei ro desenvol vi mento justamente daquel as pro-
pri edades que so mai s tei s; e embora o hbi to dessa sel eo seja
mui to moderno, e mesmo hoje esteja l onge de ser general i zado, um
cont nuo trabal ho de mi l ni os deu ao homem pl antas que quase no
l embram as suas sel vagens ancestrai s. Enfi m, os gneros de produtos
que mai s devem ao trabal ho e aos cui dados do homem so as espci es
mai s sel etas de frutas, fl ores, l egumes e de ani mai s, parti cul armente
os ti pos empregados para mel horar sua prpri a espci e. Enquanto a
natureza por si mesma sel eci onari a as mai s capazes de sobrevi ver e pro-
pagar-se, o homem escol he as que l he podem fornecer mai s prontamente
as mai ores quanti dades das coi sas de que preci sa mai s. Mui tos dos pro-
dutos mai s di sputados no poderi am subsi sti r sem os seus cui dados.
So poi s di versos os papi s que o homem desempenha, ajudando
a natureza a dar di ferentes espci es de produtos agr col as. Em cada
OS ECONOMISTAS
212
caso el e trabal ha at que o rendimento adi ci onal obti do do emprego
de mai s capi tal e trabal ho tenha diminudo tanto que no mai s os
compense. Onde esse l i mi te l ogo ati ngi do, el e dei xa natureza quase
todo o trabal ho. Onde seu papel na produo foi grande que pde
trabal har bastante sem al canar tal l i mi te. Somos assi m l evados a
consi derar a l ei do rendi mento decrescente.
i mportante notar que o rendi mento do capi tal e do trabal ho,
ora em estudo, se mede pel a quanti dade do produto obti do i ndepen-
dentemente de quai squer al teraes que entrementes possam ter ocor-
ri do no val or de troca ou no preo do produto, como as que podem
suceder pel a construo de uma estrada de ferro na vi zi nhana, pel o
grande cresci mento da popul ao do condado, quando os produtos agr -
col as no podem ser faci l mente i mportados. Tai s mudanas sero de
i mportnci a vi tal quando ti vermos que ti rar concl uses da l ei do ren-
di mento decrescente, e parti cul armente quando estudarmos a presso
do aumento da popul ao sobre os mei os de subsi stnci a. El as, porm,
no tm rel ao com a l ei propri amente, que nada tem a ver com o
val or do produto obti do, mas to-s com sua quanti dade.
162
MARSHALL
213
162 Ver a l ti ma parte do Li vro Quarto. Cap. I I I , 8; e tambm Li vro Quarto. Cap. XI I I , 2.
CAPTULO III
A Fertilidade da Terra (continuao)
A Tendncia ao Rendimento Decrescente
1. A lei ou manifestao de tendncia ao rendimento decrescente
pode ser provi sori amente expressa assi m:
Um aumento do capi tal e do trabal ho apl i cados no cul ti vo da
terra causa em geral um aumento menos que proporci onal no montante
do produto obti do, a no ser que coi nci da com a mel hori a nas tcni cas
da agri cul tura.
Sabemos pel a Hi stri a e pel a observao que todo agri cul tor, em
qual quer poca e cl i ma, deseja di spor de uma boa extenso de terra,
e que, quando no pode obt-l a l i vremente, pagar para i sso, se ti ver
mei os. Se jul gasse que poderi a l ograr resul tados to bons apl i cando
todo o seu capi tal e trabal ho num pequeno trato, el e se teri a contentado
com esse pequeno terreno, e no pagari a por um mai or.
Quando pode ser consegui da gratui tamente terra que no requer
nenhum trabal ho preparatri o, cada um ocupa exatamente a quanti -
dade que cal cul a dar ao seu capi tal e trabal ho o mai or rendi mento.
Sua cul tura extensi va, no i ntensi va. O agri cul tor no pretende
obter mui tos bushels de tri go de um s acre, poi s, se assi m fosse,
cul ti vari a apenas poucos acres. Seu objeti vo consegui r uma col hei ta
to grande quanto poss vel com um di spndi o determi nado de sementes
e de trabal ho; e, portanto, semei a tantos acres quantos possa manter
num cul ti vo l i gei ro. Natural mente, el e pode i r l onge demai s: espal har
seu trabal ho sobre uma rea to grande que resul tari a mai s vantajoso
concentrando seu capi tal e seu trabal ho num espao menor, e, nessas
ci rcunstnci as, se pudesse di spor de mai s capi tal e trabal ho para apl i car
mai s por acre, a terra l he dari a um rendi mento crescente, i sto , um
rendi mento adi ci onal proporci onal mente mai or do que o obti do com o
gasto atual . Mas, se fez seus cl cul os corretamente, el e estar uti l i zando
justamente a extenso de sol o que l he d o rendi mento mai s el evado,
e perderi a em concentrar o seu capi tal e o seu trabal ho numa rea
215
menor. Se di spusesse de mai s capi tal e trabal ho e apl i casse ao seu
terreno atual , ganhari a menos do que se comprasse mai s terreno: ob-
teri a um rendi mento Decrescente, i sto , um rendi mento adi ci onal pro-
porci onal mente menor do que o obti do das l ti mas apl i caes de capi tal
e trabal ho, uma vez que, cl aro, no haja nesse nteri m uma mel hori a
sens vel nos seus mtodos de cul ti vo. Seus fi l hos, medi da que crescem,
di sporo de mai s capi tal e trabal ho para apl i car na terra, e, a fi m de
evi tar um rendi mento decrescente, preci saro cul ti var mai s terra. Mas,
tal vez, ento toda a terra vi zi nha j estar ocupada, e para consegui r
mai s el es devero compr-l a, pagar uma renda para seu uso, ou emi grar
para onde possam obt-l a de graa.
163
Essa tendnci a para o rendi mento decrescente foi a causa da
separao de Abrao e de Lot,
164
e da mai ori a das mi graes de que
fal a a Hi stri a. Onde quer que o di rei to de cul ti var a terra seja mui to
di sputado, podemos estar seguros de que a tendnci a para o rendi mento
decrescente est em pl ena ao. Se no fosse por essa tendnci a, cada
fazendei ro poderi a poupar quase toda a renda que paga, no fi cando
seno com um pequeno pedao de terra, e i nvertendo nel e todo o seu
capi tal e trabal ho. Se todo o capi tal e trabal ho que nesse caso apl i cari a
desse to bom resul tado como os que presentemente emprega, el e ob-
teri a desse l ote uma produo to grande como col he presentemente
da fazenda i ntei ra; e fari a um l ucro l qui do de toda a renda, menos a
que paga pel o pequeno pedao de terra que conservou.
Pode ser admi ti do que a ambi o dos fazendei ros freqentemente
os l eva a tomar mai s terra do que a que podem cul ti var: e, na verdade,
quase todas as autori dades em agri cul tura, desde Arthur Young, tm
combati do esse erro. Mas quando el es di zem a um fazendei ro que el e
teri a mai s vantagem apl i cando seu capi tal e trabal ho numa rea menor,
no querem di zer necessari amente que obteri am mai or produo bruta,
seno que a economi a que efetuari a no arrendamento compensari a
qual quer di mi nui o no rendi mento total do terreno. Se um fazendei ro
paga de renda 1/4 do val or de sua produo, ganhari a concentrando
seu capi tal e trabal ho em menos terra, uma vez que nesta o capi tal
e o trabal ho apl i cados adi ci onal mente em cada acre l he dessem uma
retri bui o um tanto mai or do que os 3/4 de que antes obti nha, al can-
ando assi m, em proporo, mel hor provei to.
Outrossi m, podemos admi ti r que mui ta terra, mesmo num pa s
adi antado como a I ngl aterra, to mal cul ti vada que se poderi a faz-l a
OS ECONOMISTAS
216
163 O rendi mento crescente nas pri mei ras etapas surge em parte da economi a de organi zao,
semel hante vantagem que d a manufatura em l arga escal a. Mas em parte tambm
devi do ao fato de que, onde a terra l i gei ramente cul ti vada, as col hei tas dos l avradores
esto sujei tas a ser sufocadas pel o cresci mento natural do mato. A rel ao entre o rendi mento
decrescente e o crescente estudada depoi s, no l ti mo cap tul o deste l i vro.
164 "A terra no podi a sustent-l os, permi ti ndo-l hes vi ver juntos; porque o de que preci savam
para manter-se era mui to, assi m no podi am morar juntos." Gnese, 13, 6.
produzi r mai s do dobro, se se apl i casse habi l mente o dupl o do capi tal
e do trabal ho que atual mente se empregam. Mui to provavel mente esto
certos todos os que sustentam que, se todos os fazendei ros i ngl eses
fossem to capazes, prudentes e enrgi cos como o so os mel hores
dentre el es, poderi am apl i car provei tosamente o dupl o de capi tal e
trabal ho que agora apl i cam. Supondo que a renda representa a quarta
parte do produto atual mente obti do, poderi am obter 7 qui ntai s de pro-
duo em vez de 4 que obtm agora: de i magi nar-se que, com mtodos
ai nda mai s aperfei oados, poderi am ati ngi r 8, ou mai s. Mas i sso no
prova que, tal como esto as coisas, um capi tal e trabal ho supl ementares
possam obter da terra um rendi mento crescente. Constatamos, sem
dvi da, como resul tado de uma observao uni versal , que, sendo os
l avradores como so, com o preparo e a energi a que tm atual mente,
para el es o mei o mai s curto de enri quecerem no o abandono de
uma grande parte de suas terras, concentrando todo o seu capi tal e
trabal ho no restante e guardando em seus bol sos a renda de toda a
terra que no conservaram. A razo por que no fazem i sso se encontra
na l ei do rendi mento decrescente, medi do esse rendi mento, como j
tem si do di to, pel a sua quanti dade, no pel o seu val or de troca.
Podemos agora especi fi car ni ti damente as restri es i mpl ci tas
na expresso em geral de nosso enunci ado provi sri o da l ei . A l ei
uma mani festao de uma tendnci a que, certo, pode ser deti da por
al gum tempo por mei o de aperfei oamentos nas tcni cas de produo
e pel o curso capri choso do desenvol vi mento das potenci al i dades i nte-
grai s do sol o; mas que se mostrar fi nal mente i rresi st vel , desde que
a procura da produo aumente sem l i mi te. Nosso enunci ado fi nal da
tendnci a pode ser di vi di do em duas partes, do segui nte modo:
Embora um progresso nas artes agr col as possa el evar o n vel
de rendi mento que a terra geral mente proporci ona a uma dada soma
de capi tal e trabal ho, e ai nda que o capi tal e o trabal ho j apl i cados
em al gum l ote de terra possam ser to i nsufi ci entes para o aprovei -
tamento de suas i ntei ras possi bi l i dades que al gum di spndi o adi ci onal
nel e, mesmo com os processos agr col as exi stentes, dari a um rendi mento
aci ma do proporci onal , no obstante, essas condi es so raras em um
vel ho pa s, e sendo el as i nexi stentes a apl i cao de capi tal e trabal ho
adi ci onai s a um terreno proporci onar um aumento menos que pro-
porci onal no produto obti do, a no ser que tenha havi do, entrementes,
um aumento na capaci dade do cul ti vador i ndi vi dual . Em segundo l ugar,
quai squer que possam ser os progressos futuros nas artes agr col as,
um cont nuo aumento de apl i cao de capi tal e trabal ho na terra deve
por fi m resul tar numa di mi nui o da produo adi ci onal que pode ser
obti da medi ante uma quanti dade de capi tal e trabal ho adi ci onai s.
2. Usando o termo sugeri do por James Mi l l , podemos consi derar
o capi tal e o trabal ho empregados na terra como formados de sucessi vas
MARSHALL
217
doses i guai s.
165
Como vi mos, o rendi mento das pri mei ras poucas doses
pode ser tal vez pequeno, e um nmero mai or de doses pode dar um
rendi mento proporci onal mente mai or. O rendi mento das doses suces-
si vas pode mesmo, em casos excepci onai s, al ternati vamente subi r e
bai xar. Mas nossa l ei estabel ece que mai s cedo ou mai s tarde (suposto
sempre que no haja durante esse tempo mudana nos processos de
cul tura) se chegar a um ponto depoi s do qual todas as doses adi ci onai s
obtero um rendi mento menor proporci onal mente ao das doses prece-
dentes. A dose sempre uma uni dade combi nada de trabal ho e capi tal ,
seja el a apl i cada por um l avrador propri etri o que cul ti ve el e mesmo
sua terra, ou por um agri cul tor capi tal i sta que no faz nenhum trabal ho
manual . No l ti mo caso a pri nci pal parte do di spndi o se apresenta
em forma de di nhei ro, e quando estudamos a economi a da empresa
rural em rel ao com as condi es da I ngl aterra, por vezes conveni ente
consi derar o trabal ho converti do num equi val ente em moeda, ao seu
val or no mercado, e fal ar si mpl esmente em dose de capi tal , em vez de
doses de trabal ho e capi tal .
A dose que d ao l avrador a justa remunerao pode ser chamada
dose marginal e o rendi mento correspondente, rendimento marginal.
Se acontece haver na vi zi nhana uma terra cul ti vada que apenas d
para as despesas, e nada dei xa para fazer em face da renda, podemos
supor que se l he apl i ca a dose margi nal ; podemos, ento, di zer que a
dose que l he apl i cada est no limite ou margem de cultivo, e essa
forma de l i nguagem tem o mri to da si mpl i ci dade. Mas no necessri o
para a nossa argumentao supor a exi stnci a de tal terra: o necessri o
fi xar bem em mente o rendi mento que produz a dose margi nal , e
no i mporta que esta se apl i que a uma terra pobre ou ri ca; basta que
seja a l ti ma dose que se pode apl i car l ucrati vamente nessa terra.
166
Quando fal amos da dose margi nal , ou da l ti ma, empregada
na terra, no queremos di zer a l ti ma no tempo, mas si m a que est
na margem de di spndi o l ucrati vo, i sto , que se apl i ca para propor-
ci onar exatamente as compensaes ordi nri as do capi tal e do trabal ho
do agri cul tor, sem ajuntar nenhum sal do supl ementar. Para tomar um
exempl o concreto, suponhamos um agri cul tor que pensa em arrotear
o seu campo mai s uma vez; e que depoi s de uma pequena hesi tao
se deci de a i sso, mas consi derando que no mai s do que o justamente
conveni ente. A dose de capi tal e trabal ho gasta no servi o assi m a
l ti ma dose em nosso senti do presente, embora mui tas doses ai nda
devam ser apl i cadas na cei fa da col hei ta. Natural mente o rendi mento
daquel a l ti ma dose no pode ser separado do das outras; mas ns
OS ECONOMISTAS
218
165 Sobre esse termo ver a nota no fi m do cap tul o.
166 Ri cardo o sabi a mui to bem, ai nda que no ti vesse i nsi sti do bastante ni sso. Os adversri os
de sua teori a que supuseram que el a no se apl i cari a aos l ugares onde todas as terras
pagam uma renda, se equi vocaram sobre a natureza de sua argumentao.
atri bu mos a el a toda aquel a parte do produto que cremos no teri a si do
produzi da se o agri cul tor ti vesse deci di do no arrotear novamente.
167
Uma vez que o rendi mento da dose na margem de cul ti vo apenas
remunera o agri cul tor, segue-se da que el e ser remunerado pel a tota-
l i dade de seu capi tal e trabal ho por tantas vezes o rendi mento margi nal
quantas forem as doses que haja apl i cado no total . Tudo o que obtm em
excesso a i sso o produto adicional (surplus produce) da terra. Esse ex-
cedente fi ca com o agri cul tor se el e prpri o o dono da terra.
168
MARSHALL
219
167 Um exempl o extra do de experi nci as regi stradas pode ajudar-nos a tornar mai s cl ara a
noo de rendi mento da dose margi nal de capi tal e trabal ho. A Estao Experi mental de
Arkansas (ver The Times, 18 de novembro de 1889) rel atou que de quatro l otes de um
acre cada um havi a si do tratado de forma exatamente i gual , exceto na manei ra de arar e
de destorroar, com o resul tado segui nte:
I sso mostra que a dose de capi tal e trabal ho empregado em destorroar uma segunda vez
um acre que j ti nha si do arado duas vezes deu um rendi mento de 7 1/12 bushels. E se
o val or desses bushels, depoi s de deduzi dos os gastos da sega etc., era o equi val ente exato
dessa dose com l ucro, esta era a dose margi nal , apesar de no ser a l ti ma cronol ogi camente,
uma vez que as despesas de sega conti nuam mai s tarde.
168 Tratemos de i l ustrar i sso grafi camente. Deve ser l embrado que as i l ustraes grfi cas no
so provas. So apenas fi guras, correspondendo grossei ramente s condi es pri nci pai s de
certos probl emas reai s. Conseguem a cl areza da i di a geral dei xando de l ado mui tas con-
si deraes que vari am de um probl ema prti co para outro, e que o agri cul tor deve l evar
em perfei ta conta no seu caso especi al . Se num dado campo foi despendi do um capi tal de
50 l i bras, uma certa quanti dade de produto deve ser ti rada del e: certa quanti dade mai or
que a anteri or dever ter si do ti rada se ti vesse si do gasto um capi tal de 51 l i bras. A
di ferena entre essas duas quanti dades pode ser consi derada o produto devi do 51 l i bra;
e se supomos o capi tal apl i cado em sucessi vas doses de 1 l i bra cada, podemos di zer que
essa di ferena o produto devi do 51 dose. Representemos as doses em ordem, por
sucessi vas di vi ses i guai s da l i nha OD. Tracemos agora, do ponto dessa l i nha, M, que
representa a 51 dose, uma l i nha MP formando um ngul o reto com OD, de espessura
i gual ao comprimento de uma das di vi ses, representando o comprimento da l i nha MP a quan-
ti dade do produto devida 51 dose. Suponhamos que o mesmo foi repeti do em rel ao a todas
as di vi ses at a que corresponde lti ma dose que se consi dera de emprego l ucrati vo na terra.
Seja essa l ti ma dose a 110, em D, e DC o rendimento correspondente que baste exatamente
para remunerar o agri cul tor. As extremi dades de tai s l inhas formaro a curva APC.
Fi g. 11
O produto bruto ser representado pel a soma dessas l i nhas: i sto , desde que a espessura
de tal l i nha i gual ao compri mento da di vi so na qual assenta, el e estar representado
pel a rea ODCA. Tracemos CGH paral el a a DO, cortando PM, em G; ento MG i gual a
i mportante notar que essa descri o da natureza do produto
adi ci onal no uma teori a da renda: s estaremos prontos para esta
mui to adi ante. Tudo o que aqui se pode di zer que, sob certas condies,
o di to produto adi ci onal pode tornar-se a renda que o propri etri o da
terra pode auferi r do arrendatri o pel o seu uso. Mas, como veremos
mai s adi ante, a renda fundi ri a i ntegral de uma expl orao agr col a
num vel ho pa s composta de trs el ementos: o pri mei ro, devi do ao
val or do sol o como foi entregue pel a natureza; o segundo, a mel hora-
mentos fei tos pel o homem; e o tercei ro, que por vezes o mai s i mpor-
tante, ao cresci mento de uma popul ao densa e ri ca, e s faci l i dades
de comuni cao por estradas, ferrovi as etc.
Deve notar-se tambm que i mposs vel num vel ho pa s descobri r
o que era o estado ori gi nal da terra antes da pri mei ra cul tura. Os
resul tados de mui to do trabal ho humano so, para o bem ou para o
mal , i ncorporados terra, e no podem di sti ngui r-se daquel es devi dos
natureza: a l i nha de di vi so apagada e s se pode tra-l a mai s
ou menos arbi trari amente. Mas, para a mai ori a dos fi ns, o mel hor
consi derar superadas as pri mei ras di fi cul dades da l uta com a natureza,
antes de entrarmos na aval i ao da obra de cul ti vo do agri cul tor. Assi m,
os rendi mentos que admi ti mos devi dos s pri mei ras doses de capi tal
e trabal ho so geral mente os mai s al tos de todos, e a tendnci a do
rendi mento a decrescer l ogo se apresenta. Consi derando pri nci pal mente
a agri cul tura i ngl esa, podemos perfei tamente, como fez Ri cardo, tomar
esse caso como t pi co.
169
OS ECONOMISTAS
220
CD; e desde que DC representa a remunerao exata do agri cul tor por uma dose, MG o
remunerar exatamente por outra; e assi m para todas as pores das l i nhas verti cai s,
l i mi tadas entre OD e HC. Por consegui nte, a soma destas, i sto , a rea ODCH representa
a parte do produto necessri a para remuner-l o; enquanto o restante, AHGCPA, o produto
adi ci onal , que sob certas condi es torna-se a renda.
169 I sto , podemos substi tui r (fi g. 11) pel a l i nha ponti l hada BA a l i nha BA, e consi derar
ABPC a curva t pi ca do rendi mento do capi tal e trabal ho apl i cados na agri cul tura i ngl esa.
Sem dvi da as safras de tri go e outras anuai s no podem ser obti das sem uma l abuta
consi dervel . Mas os prados naturai s que se semei am por si fornecem, quase sem trabal ho,
um bom rendi mento em gado rsti co. J foi assi nal ado (Li vro Tercei ro. Cap. I I I , 1) que
a l ei do rendi mento decrescente mostra uma estrei ta anal ogi a com a l ei da procura. O
rendi mento que a terra d a uma dose de capi tal e trabal ho pode ser consi derado preo
que a terra d por essa dose. O rendi mento da terra ao capi tal e ao trabal ho , por assi m
di zer, sua procura efeti va del es: seu rendi mento para uma dose qual quer o seu preo de
procura para essa dose, e a sri e de rendi mentos que el a dar s sucessi vas doses podem
ser consi derados, assi m, sua tbua de procura: mas, para evi tar confuso, ns a chamaremos
de sua Tbua de Rendi mentos (Return Schedule). Corresponde ao caso da terra que
estudamos o de um homem di sposto a pagar pel a metragem de papel que cobri sse i ntei -
ramente as paredes de seu quarto um preo aci ma do proporci onal ao que pagari a pel o
papel que apenas desse para a metade do servi o; e ento sua tbua de procura acusari a
num momento uma al ta e no uma di mi nui o do preo de procura por uma quanti dade
mai or. Contudo, numa procura gl obal de mui tos i ndi v duos, esses di strbi os se destroem
uns aos outros; de sorte que a tbua de procura gl obal de um grupo de popul ao acusa
sempre o preo de procura cai ndo constantemente a cada aumento de quanti dade ofereci da.
Da mesma manei ra, reuni ndo mui tos pedaos de terra, podemos obter uma tbua de ren-
di mento que mostrari a uma constante di mi nui o a cada aumento de capi tal e trabal ho
apl i cados. Mas mui to fci l , e sob certos aspectos mai s i mportantes, constatar as vari aes
3. I nvesti guemos a segui r de que depende a taxa da di mi nui o
ou do aumento dos rendi mentos rel ati vos a doses sucessi vas de capi tal
e trabal ho. Vi mos que se veri fi cam grandes vari aes na quota de
produtos que o homem pode pretender como resul tado adi ci onal do
seu prpri o trabal ho, sobre o que a natureza por si produzi ri a; e que
a parte do homem mui to mai or em certas col hei tas e sol os, e em
certos mtodos de cul ti vo, do que em outros. Assi m, de manei ra geral ,
el a aumenta medi da que passamos da fl oresta s pastagens, das
pastagens s terras arvei s, e destas para as l ei ras. Por i sso, a taxa
de di mi nui o do rendi mento em regra mai or nas fl orestas, menor
nas pastagens, ai nda menor nas terras arvei s, e a menor de todas
nas terras trabal hadas manual mente.
No h medi da absol uta da ri queza ou ferti l i dade da terra. Mesmo
no havendo al terao nas artes de produo, um si mpl es aumento
na procura de um produto pode i nverter a ordem em que se col ocam
doi s terrenos adjacentes no que toca ferti l i dade. O que d a menor
produo, quando os doi s esto abandonados, ou so por i gual fraca-
mente cul ti vados, pode sobrepujar o outro e fi gurar justamente como
o mai s frti l quando ambos so cul ti vados i ntensamente, tambm por
i gual . Em outras pal avras, mui tas das terras menos frtei s, quando a
sua cul tura meramente extensi va, entram entre as mai s frtei s quan-
do a cul tura se torna i ntensi va. Por exempl o, um pasto com drenagem
natural pode dar um grande rendi mento proporci onal mente a um l eve
di spndi o de capi tal e trabal ho, mas um rendi mento rapi damente de-
crescente a di spndi os ul teri ores: medi da que a popul ao aumenta,
pode tornar-se gradual mente vantajoso supri mi r um pouco da pastagem
e i ntroduzi r uma cul tura mi sta de ra zes, gros e capi ns, e ento o
rendi mento das doses segui ntes de capi tal e trabal ho pode di mi nui r
menos rapi damente.
Outro terreno produz uma pobre pastagem, mas fornece rendi -
mento mai s ou menos l i beral a uma grande soma de capi tal e trabal ho
apl i cada em l avr-l o e ferti l i z-l o; seus rendi mentos s pri mei ras doses
no so mui to al tos, mas di mi nuem l entamente.
E ai nda: outra terra pantanosa. Pode, como os brejos do l este
da I ngl aterra, produzi r quase somente juncos e aves sel vagens, ou,
como no caso de mui tas regi es tropi cai s, pode ser prol fi ca de vegetao,
mas to devastada pel a mal ri a que di f ci l ao homem vi ver, e ai nda
mai s trabal har nel a. Em tai s casos, os rendi mentos ao capi tal e trabal ho
so a pri nc pi o pequenos, mas desenvol vi da a drenagem, aumentam;
depoi s tal vez bai xem de novo.
170
MARSHALL
221
de procura i ndi vi dual no que se refere s pessoas. E, por i sso, nossa tbua t pi ca de
rendi mento no apresenta a mesma e uni forme di mi nui o de rendi mento como a dos
preos de procura em nossa t pi ca tbua de procura.
170 I sso pode ser representado por di agramas. Pri mei ro caso, fi g. 12: se o produto aumenta
Mas quando mel horamentos dessa natureza forem real i zados, o
capi tal i nvesti do no sol o no pode ser reti rado; no se repete a hi stri a
pri mi ti va do cul ti vo; e o produto de ul teri ores apl i caes de capi tal e
trabal ho apresenta uma tendnci a a decrescente rendi mento.
171
Mudanas semel hantes, ai nda que menos vi s vei s, podem ocorrer
nas terras j bem cul ti vadas. Por exempl o, sem ser brejo, esse terreno,
no entanto, pode necessi tar de uma pequena drenagem para remover
a gua estagnada e permi ti r gua e ao ar frescos correrem atravs
del e. Ou o subsol o pode ser natural mente mai s ri co do que a superf ci e
do sol o; ou ai nda, embora no seja ri co por si mesmo, pode conter
preci samente as propri edades nas quai s a superf ci e defi ci ente, e
ento um si stema compl eto de aradura profunda a motor pode mudar
permanentemente o carter da terra.
Assi m, no preci samos supor que, comeando a di mi nui r o ren-
di mento ao capi tal e trabal ho supl ementares, i sso conti nuar sempre
assi m. Os progressos nas artes da produo podem, como se tem sempre
entendi do, el evar geral mente o rendi mento de qual quer soma de capi tal
e trabal ho. Mas no i sso o que queremos si gni fi car aqui . O que se
acentua que, i ndependente de qual quer aumento dos seus conheci -
OS ECONOMISTAS
222
em val or real razo de OH para OH (de sorte que a quanti dade necessri a para remunerar
um l avrador por uma dose de capi tal e trabal ho cai u de OH para OH), o produto margi nal
sobe s a AHC, que no mui to mai or do que a anti ga soma AHC. Segundo caso, Fi g.
13: uma mudana semel hante no preo do produto faz o novo produto adi ci onal AHC cerca
de trs vezes mai or que o anti go AHC. E tercei ro, Fi g. 14: as pri mei ras doses de capi tal
e trabal ho apl i cadas terra do um rendi mento to pequeno, que no val eri a a pena empreg-l as
se no houvesse a i nteno de l evar adi ante o cul ti vo. Mas as doses posteri ores do
Fi g. 12 Fi g. 13 Fi g. 14
um rendi mento crescente, que cul mi na em P, e em segui da di mi nui . Se o preo a obter-se
pel o produto to bai xo que necessri a uma quanti dade OH" para remunerar o agri cul tor
por uma dose de capi tal e trabal ho, ser ento apenas poss vel l avrar a terra com provei to.
Porque a o cul ti vo ser l evado at D"; haver um preju zo, quanto s pri mei ras doses,
representado pel a superf ci e H"AE", e um excedente nas doses segui ntes, representado
pel a rea E"PC": e como as duas reas so quase i guai s, o cul ti vo da terra prati camente
apenas cobri r as despesas. Mas se o preo do produto sobe, sendo OH sufi ci ente para
remunerar o l avrador por uma dose de capi tal e trabal ho, o preju zo das pri mei ras doses
se reduz a HAE, e o excedente nas segui ntes crescer a EPC: o excedente l qui do (a
verdadei ra renda no caso de uma terra arrendada) ser a di ferena de EPC sobre HAE.
Se o preo se el evasse ai nda, fi cando OH bastante para remunerar o agri cul tor por uma
dose de capi tal e trabal ho, esse excedente l qui do subi ri a grande soma representada pel o
excesso de E PC sobre H AE.
171 Num caso como este, as pri mei ras doses a pouco e pouco fi cam seguramente i ntegradas
no sol o; e a atual renda paga, se a terra arrendada, i ncl ui r ento os l ucros rel ati vos a
essas doses al m do produto adi ci onal , ou verdadei ra renda. Fi nal mente se pode, nos di a-
gramas, l evar em conta as compensaes devi das ao capi tal do dono da terra.
mentos e manejando apenas aquel es mtodos aos quai s se acostumou
h mui to, um agri cul tor, di spondo de capi tal e trabal ho supl ementares,
pode por vezes obter um rendi mento crescente, mesmo num avanado
estgi o de cul ti vo.
172
Di z-se com razo que, como a fora de uma corrente depende de
seu el o mai s fraco, assi m a ferti l i dade l i mi tada pel o el emento em
que mai s defi ci ente. Os que esto com urgnci a rejei taro uma cor-
rente que tem um ou doi s el os mui to fracos, embora os restantes possam
ser fortes: e preferem uma corrente mui to mai s l eve, que entretanto
no tenha fal ha. Mas se h um trabal ho pesado a fazer, e sobra tempo
para fazer reparos, el es consertaro a corrente mai s sl i da, e ento
sua fora exceder da outra. Ni sso encontramos a expl i cao de mui to
que aparentemente estranho na hi stri a da agri cul tura.
Os pri mei ros col onos num pa s novo geral mente evi tam estabe-
l ecer-se em terra que no se presta ao cul ti vo i medi ato. Sentem-se s
vezes repel i dos pel a prpri a exubernci a da vegetao natural , se esta
acontece ser de uma espci e de que no preci sam. No se i nteressam
por arar um sol o duro, por mai s ri co que venha a ser depoi s de per-
fei tamente l avrado. Nada l hes val e a terra al agadi a. Procuram de
ordi nri o terras l eves faci l mente trabal hvei s com um arado dupl o, e
ento espal ham as sementes a grandes i nterval os, de forma que as
pl antas ao crescerem possam ter uma pl eni tude de l uz e de ar, e possam
el es col her seus al i mentos de uma ampl a rea.
No i n ci o da col oni zao da Amri ca, mui tas operaes agrri as
hoje fei tas por mqui nas, movi das por caval os, eram ai nda prati cadas
a mo; e enquanto agora os agri cul tores tm uma deci di da prefernci a
pel os terrenos pl anos e herbosos, l i vres de troncos e pedras, nos quai s
suas mqui nas se possam l ocomover faci l mente e sem ri sco, el es ento
pouco objetavam contra as encostas. Suas col hei tas eram pequenas
com rel ao rea cul ti vada, mas consi dervei s em proporo ao capi tal
e ao trabal ho apl i cados para produzi -l as.
No podemos, poi s, di zer que um campo mai s frti l do que
outro, se no conhecemos as habi l i taes e a capaci dade de empreen-
di mento dos seus cul ti vadores, e a soma de capi tal e trabal ho de que
di spem; e se no sabemos se a procura do produto sufi ci ente para
tornar vantajosa a cul tura i ntensi va com os recursos di spon vei s. Se o
MARSHALL
223
172 Natural mente, seu rendi mento pode di mi nui r, aumentar depoi s, e novamente di mi nui r; e
ai nda uma vez aumentar quando esti ver em condi es de executar certas transformaes
de al cance, como foi representado na fi g. 11. Casos mai s extremos, da cl asse do representado
na fi g. 15, no so mui to raros.
Fi g. 15
for, sero mai s frtei s as terras que derem a mais al ta mdi a de rendi mento
a uma grande inverso de capi tal e trabalho; se no o for, mai s frtei s
sero as que produzi rem os mai s altos rendi mentos s primei ras doses. O
termo ferti l i dade no tem senti do seno com referncia s ci rcunstncias
especiai s de um l ugar e um tempo determi nados.
Mesmo, porm, com essas l i mi taes, h mui ta i ncerteza no uso do
termo. Por vezes, a ateno se di ri ge pri nci pal mente para o poder que a
terra tem de dar rendi mentos adequados cul tura i ntensi va e assi m
fornecer uma grande produo total por acre; outras vezes, vi sa-se a sua
capaci dade de dar um grande excedente de produo ou renda, mesmo
que sua produo bruta no seja mui to grande: assi m na I ngl aterra, pre-
sentemente, uma terra arvel ri ca mui to frti l no pri mei ro senti do, um
ri co prado no segundo. Para mui tos fi ns, no i mporta em qual dos doi s
senti dos o termo usado: nos poucos casos em que a di sti no i mportante,
uma refernci a i nterpretati va se deve i ncl ui r no contexto.
173
4. Mas, al m di sso, o grau de ferti l i dade de di ferentes sol os
sujei to a mudar com as al teraes nos mtodos de cul ti vo e nos val ores
rel ati vos das di ferentes col hei tas. Assi m, quando no fi m do scul o XVI I I ,
o sr. Coke mostrou como se podi a bem cul ti var tri go em sol os l eves,
preparando-os com o pl anti o de trevo, esses terrenos subi ram em rel ao
aos argi l osos, e agora, embora pel o hbi to ai nda sejam freqentemente
chamados de pobres, mui tos del es tm val or mai or, e so real mente
mai s frtei s que mui tas terras cul ti vadas com esmero enquanto aquel es
estavam em seu estado natural .
Do mesmo modo, a crescente procura de madei ra na Europa Cen-
tral para ser usada como combust vel ou em construes el evou o val or
dos terrenos montanhosos cobertos de pi nhei ros rel ati vamente a quase
todos os outros ti pos de terra. Mas na I ngl aterra esse aumento foi
evi tado pel a substi tui o da l enha pel o carvo como combust vel , e da
madei ra pel o ferro como materi al de construo naval , e fi nal mente
pel as faci l i dades especi ai s da I ngl aterra de i mportar madei ra. I gual -
mente, a cul tura do arroz e da juta mui tas vezes d um el evado val or
a terras demasi adamente cobertas de gua para permi ti r outras cul -
turas. E, ai nda, desde a revogao das l ei s da restri o i mportao
de tri go (Corn Laws), os preos da carne e dos l ati c ni os tm aumentado
na I ngl aterra em rel ao aos do tri go. Os sol os arvei s onde podi am
OS ECONOMISTAS
224
173 Se o preo do produto tal que uma quanti dade do mesmo OH (fi g. 12, 13, 14) necessri a
para remunerar o cul ti vador por uma dose de capi tal e trabal ho, o cul ti vo prossegui r at
D; e o produto AODC ser mxi mo na fi g. 12, menos avul tado na fi g. 13, e menor na fi g.
14. Mas se a procura do produto agr col a aumenta de sorte que OH, bastante para pagar
o cul ti vador por uma dose, o cul ti vo prossegui r at D, e o produto obti do ser AODC,
que a mxi ma na fi g. 14, menos avul tada na 13, e menor na 12. O contraste teri a si do
ai nda mai s forte se ti vssemos consi derado o produto adi ci onal que fi ca depoi s de deduzi r
o bastante para remunerar o cul ti vador, e que se torna, sob certas condi es, a renda da
terra. Poi s esse AHC nas fi g. 12 e 13, no pri mei ro caso, e AHC, no segundo; enquanto
na fi g. 14 i gual , no pri mei ro caso, di ferena de AODCPA sobre ODCH, i sto , o excesso
de PEC sobre AHE; e para o segundo caso, o excesso de PEC sobre AHE.
medrar ri cas pl antaes forragei ras al ternadas com tri go subi ram re-
l ati vamente aos sol os argi l osos fri os; e as pastagens permanentes re-
cuperaram parte da grande perda de val or que experi mentaram, em
rel ao s terras arvei s, que resul tara do aumento da popul ao.
174
I ndependentemente de qual quer mudana na conveni nci a das
cul turas predomi nantes e dos mtodos de cul ti vo de terrenos especi ai s,
h uma constante tendnci a i gual dade entre o val or dos di versos
terrenos. Na ausnci a de al guma causa especi al em contrri o, o cres-
ci mento da popul ao e da ri queza faz com que os sol os mai s pobres
ganhem sobre os ri cos. A terra que em al gum tempo era i ntei ramente
abandonada chega fora de mui to trabal ho a produzi r ri cas col hei tas;
sua provi so anual de l uz, de cal or e de ar provavel mente to boa
como a dos sol os mai s ri cos: enquanto as suas defi ci nci as podem ser
mui to reduzi das pel o trabal ho.
175
MARSHALL
225
174 Rogers (Six Centuries of Work and Wages, p. 73) cal cul a que os ri cos prados ti nham, ci nco
ou sei s scul os atrs, o mesmo val or, esti mado em gros, que hoje. Mas que o val or das
terras arvei s, pel a mesma medi da, cresceu cerca de ci nco vezes no mesmo tempo. I sso
devi do em parte grande i mportnci a que ti nha o feno numa poca em que no se conheci am
as ra zes e outras espci es modernas de forragens de i nverno para o gado.
175 Assi m, podemos comparar doi s pedaos de terra representados nas fi g. 16 e 17, sobre os
quai s a l ei do rendi mento decrescente age de manei ra semel hante, de sorte que suas curvas
de produto tm formas semel hantes, tendo, porm, o pri mei ro, uma ferti l i dade mai s el evada
que o outro em todos os graus de i ntensi dade de cul ti vo. O val or da terra pode geral mente
ser representado pel o seu produto adi ci onal ou renda, que em cada caso representado
por AHC, quando OH necessri o para remunerar uma dose de capi tal e trabal ho, e por
AHC quando o cresci mento da popul ao e da ri queza fez OH sufi ci ente. cl aro que
AHC na fi g. 17 suporta mel hor uma comparao com AHC na fi g. 16, do que AHC da
fi g. 17 com AHC da fi g. 16. De i gual sorte, embora no na mesma extenso, o produto
total AODC na fi g. 17 permi te uma comparao mai s favorvel com AODC da fi g. 16,
do que AODC da 17 com AODC da 16.
Fi g. 16 Fi g. 17
(Wi cksteed engenhosamente sustenta [Coordinates of Laws of Distribution. p. 51-52] que
a renda pode ser negati va. Natural mente os i mpostos podem absorver a renda: mas na
terra que no remunera o trabal ho do arado servi r o cul ti vo de rvores ou rel va bruta.
Ver aci ma, Li vro Quarto. Cap. I I I , 3.)
Leroy Beaul i eu (Rpartition des Richesses. Cap. I I )
*
col i gi u di versos fatos i l ustrando a
tendnci a das terras pobres a subi r de val or em rel ao s ri cas. El e ci ta as segui ntes
ci fras, mostrando a renda em francos por hectare (2 1/2 acres) de ci nco cl asses de terra
em vri as comunas do Departamento de l Eure e de l Oi se, em 1829 e 1852, respecti vamente.
*
Paul Leroy Beaul i eu 1843-1916 economi sta francs, um dos pri nci pai s representantes
da Escol a Li beral e fundador do conomiste Franais (1873). (N. dos T.)
Assi m como no h um padro absol uto de ferti l i dade, tambm
no o h de bom cul ti vo. O mel hor cul ti vo nas regi es mai s ri cas das
i l has do Canal da Mancha, por exempl o, i mpl i ca um prdi go di spndi o
de capi tal e trabal ho por acre, porque el as esto prxi mas a bons mer-
cados, e tm o pri vi l gi o de um cl i ma uni forme e temperado. Se dei xada
natureza, a terra no seri a mui to frti l porque, embora com mui tas
qual i dades, tem doi s el os fracos (defi ci nci a em ci do fosfri co e po-
tassa). Mas, em parte devi do abundnci a de al gas nas suas prai as,
esses el os puderam ser reforados, e a corrente se tornou assi m ex-
cepci onal mente forte. Uma cul tura i ntensi va, ou, como ordi nari amente
se di z na I ngl aterra, uma boa cul tura, dar assi m 100 l i bras de pre-
coces batatas por um si mpl es acre, o que para um fazendei ro do oeste
da Amri ca seri a a sua ru na; rel ati vamente s ci rcunstnci as que o
rodei am, seri a um mau, e no um bom cul ti vo.
5. O enunciado que Ricardo deu l ei do rendi mento decrescente
era i nexato. porm provvel que a i nexati do fosse devi da no a erro
de raci oc ni o, mas a descui do de expresso. Em todo o caso, el e teri a ti do
razo em pensar que essas condi es no eram de grande i mportncia
nas ci rcunstnci as pecul i ares da I ngl aterra, ao tempo em que escreveu,
e para os fi ns especi ai s dos probl emas prti cos que ti nha em vi sta. Na-
tural mente, el e no poderi a prever a sri e de grandes i nventos que estavam
a ponto de abri r novas fontes de abasteci mento e, ajudados pel a l i berdade
de comrci o, de revol uci onar a agri cul tura i ngl esa; mas a hi stri a da agri -
cul tura na I ngl aterra e outros pa ses poderi a t-l o l evado a dar mai or
i mportncia probabi l i dade de uma mudana.
176
Ri cardo afi rmou que os pri mei ros col onos numa regi o nova i n-
vari avel mente escol hem as terras mai s ri cas, e medi da que a popu-
l ao cresce, terrenos cada vez mai s pobres so postos em cul ti vo, o
que expri mi r-se i mpreci samente, como se houvesse padro absol uto
de ferti l i dade. Mas, como j vi mos, onde a terra l i vre, cada qual
escol he a que mel hor convm ao seu objeti vo e dar, computadas todas
as condi es, o mel hor rendi mento ao seu capi tal e ao seu trabal ho.
Procura, poi s, terrenos que possam de l ogo ser cul ti vados e dei xa atrs
os que tenham quai squer el os frgei s na corrente dos seus el ementos
OS ECONOMISTAS
226
176 Como di z Roscher (Political Economy. Sec. CLV),
*
jul gando Ri cardo, no se deve esquecer
que no foi sua i nteno escrever um compndi o sobre a ci nci a da Economi a Pol ti ca, mas
apenas comuni car aos versados nesta o resul tado de suas pesqui sas, na forma mai s breve
poss vel . Ei s por que to freqentemente el e escreve supondo certas premi ssas, e suas
pal avras s devem ser estendi das a outros casos depoi s de uma deti da refl exo, ou de
reel aboradas a fi m de se adaptarem ao caso novo.
*
Wi l hel m Roscher, economi sta al emo (1817-1849), representante da Escol a Hi stri ca al e-
m. Pretendi a cri ar uma ci nci a econmi ca baseada na anl i se dos fatos hi stri cos. Publ i cou
uma Smula de um Curso de Economia Poltica Segundo o Mtodo Histrico (1843) e uma
obra sobre a Teoria das Crises (1849), na qual , cri ti cando J.-B. Say, estuda o probl ema da
superproduo. (N. dos T.)
de ferti l i dade, por fortes que possam ser os outros el os. Al m de ter
que evi tar a mal ri a, deve pensar na comuni cao com os mercados
de consumo e os centros de aprovi si onamento; e, em al guns casos, a
necessi dade de segurana contra os i ni mi gos e as feras sobrepuja qual -
quer outra consi derao. No , por i sso, de esperar que as pri mei ras
terras escol hi das se tornem sempre as que, em l ti ma anl i se, vm a
ser consi deradas as mai s frtei s. Ri cardo no l evou em conta esse ponto
e assi m se exps s objees de Carey e outros, as quai s, embora em
grande parte baseadas numa i nterpretao fal sa do pensamento da-
quel e, ti nham entretanto al gum fundo de verdade.
O fato de que, em regi es novas, sol os que um agri cul tor i ngl s
consi derari a pobres sejam por vezes cul ti vados antes de outros vi zi nhos
que el e reputari a ri cos, no est em contradi o, como tm di to al guns
escri tores estrangei ros, com o contedo geral das teori as de Ri cardo.
A i mportnci a prti ca destas est em rel ao com as condi es sob as
quai s o cresci mento da popul ao tende a ori gi nar uma crescente pres-
so sobre os mei os de subsi stnci a: i sso transfere o centro de i nteresse
da mera quanti dade do produto do agri cul tor para o seu val or de troca,
em termos das coi sas que a popul ao i ndustri al da sua vi zi nhana
oferecer por el e.
177
6. Ri cardo e em geral os economi stas de seu tempo foram mui to
pressurosos em ti rar essa concl uso da l ei do rendi mento decrescente,
e no l evaram bastante em conta o aumento de possi bi l i dades que
di mana da organi zao. Mas, na real i dade, todo agri cul tor recebe ajuda
da presena de vi zi nhos, sejam agri cul tores ou ci tadi nos.
178
Mesmo se
a mai or parte destes for, como el e, ocupada na agri cul tura, el es l he
MARSHALL
227
177 Carey pretende haver demonstrado que em todos os l ugares do mundo o cul ti vo comeou
nas encostas das col i nas, onde o sol o era mai s pobre, e as vantagens naturai s de si tuao,
menores. Com o desenvol vi mento da ri queza e da popul ao, os homens foram descendo
das terras al tas, que ci rcundavam os val es, vi ndo agrupar-se aos seus ps. (Principles of
Social Science. Cap. I V, 4.) El e chegou mesmo a argumentar que, quando um pa s den-
samente povoado cai na ru na, quando a popul ao, a ri queza e o poder de associ ao
decl i nam, o sol o mai s ri co o abandonado pel os homens, que acorrem de novo para os
sol os pobres (I bid., cap. V, 3), por converterem-se as terras ri cas em di f cei s em conse-
qnci a do rpi do cresci mento da mata que d asi l o s feras e aos sal teadores, e qui
mal ri a. No entanto, a experi nci a de col oni zadores mai s recentes na fri ca do Sul e
noutros l ugares no autori za as suas concl uses, que na verdade so baseadas, em grande
parte, em fatos rel ati vos a pa ses quentes. Mas mui to do aparente atrati vo dos pa ses
tropi cai s enganoso: el es podem dar um rendi mento mui to el evado ao trabal ho duro; mas
o trabal ho duro del es i mposs vel presentemente, embora a esse respei to al guma al terao
possa ter si do fei ta pel o progresso da ci nci a mdi ca e especi al mente a bacteri ol gi ca. Uma
bri sa refrescante to necessri a para uma vi da vi gorosa como a prpri a al i mentao. A
terra que oferece abundnci a de al i mentos, mas cujo cl i ma destri a energi a, no mai s
produti va da matri a-pri ma do bem-estar humano do que a terra que fornece menos comi da,
mas tem um cl i ma forti fi cante.
O fal eci do Duque de Argyl l descreveu a i nfl unci a que a i nsegurana e a pobreza ti veram
no cul ti vo obri gatri o das montanhas da Escci a antes que um dos val es fosse vi vel
(Scotland as it is and was. I I , 74-75).
178 Num pa s novo, uma forma i mportante dessa ajuda a de permi ti r-l he cul ti var terras
ri cas das quai s, de outro modo, ter-se-i a afastado por medo de i ni mi gos ou da mal ri a.
proporci onam pouco a pouco boas estradas e outros mei os de comuni -
cao: dar-l he-o um mercado no qual possa comprar em condi es
razovei s o de que preci sar, em arti gos de pri mei ra necessi dade, de
conforto ou de regal o para si e sua fam l i a, e tudo o que preci so para
o seu trabal ho; el es o assi stem com conheci mentos, recursos mdi cos,
i nstruo e di straes porta; sua mente se al arga, e sua efi ci nci a
sob mui tos aspectos aumenta. E se o centro comerci al vi zi nho se torna
um grande ncl eo i ndustri al , ento seu ganho ser mui to mai or. Tudo
o que produz val e mai s; coi sas que el e ti nha por hbi to desperdi ar
conseguem um bom preo. Novos hori zontes se l he abrem para l ati c ni os
e horti cul tura, e com uma sri e mai or de produtos el e l ana mo das
rotaes que mantm a terra sempre ati va, sem pri v-l a de nenhum
dos el ementos necessri os ferti l i dade.
Ademai s, como veremos posteri ormente, um aumento de popu-
l ao tende a desenvol ver a organi zao do comrci o e da i ndstri a;
e, portanto, a l ei do rendi mento decrescente no tem apl i cao to
exata no caso do capi tal e trabal ho totai s empregados em uma regi o
como no do capi tal e trabal ho i nvesti dos em um estabel eci mento agr -
col a parti cul ar. Ai nda no caso em que o cul ti vo tenha ati ngi do um
grau tal que qual quer dose adi ci onal apl i cada a um campo produzi sse
um rendi mento menor que o anteri or, poss vel que um i ncremento
da popul ao desse ori gem a um aumento mai s do que proporci onal
nos mei os de subsi stnci a. certo que o mau di a apenas procrasti -
nado, mas evi tado no momento. O cresci mento da popul ao, se no
for conti do por outras causas, dever s-l o fi nal mente pel a di fi cul dade
de obter produtos pri mri os. Mas, a despei to da l ei do rendi mento
decrescente, a presso da popul ao sobre os mei os de subsi stnci a
pode ser por mui to tempo retardada, graas abertura de novos campos
de supri mento, ao barateamento das comuni caes ferrovi ri as e ma-
r ti mas, e ao desenvol vi mento da organi zao e da ci nci a.
Em face di sso, de notar-se a di fi cul dade crescente de encontrar
ar fresco e l uz, e em al guns casos gua fresca, nos l ugares densamente
povoados. As bel ezas naturai s de um l ugar de freqnci a preferi da
tm um val or monetri o di reto, que no pode ser desprezado; mas
exi ge um certo esforo para que se aqui l ate o verdadei ro val or que
representa para homens, mul heres e cri anas poderem passear em
mei o bel a e vari ada pai sagem.
7. Como j se di sse, a terra, na l i nguagem econmi ca, i ncl ui
os ri os e o mar. Em pesquei ros fl uvi ai s, o rendi mento adi ci onal a novas
apl i caes de capi tal e trabal ho experi menta uma rpi da di mi nui o.
Quanto ao mar, di ferem as opi ni es. Seu vol ume enorme, e o pei xe
mui to prol fi co; mui tos pensam que o homem pode pescar quanti dades
quase i l i mi tadas sem afetar apreci avel mente o nmero de pei xes que
restam no oceano; ou, em outras pal avras, que a l ei do rendi mento
OS ECONOMISTAS
228
decrescente no se apl i ca bem pesca mar ti ma: enquanto outros acham
que a experinci a mostra cai r a produti vi dade das zonas de pesca i nten-
samente trabal hadas, mormente por barcos a vapor. A questo i mpor-
tante, poi s a futura popul ao do mundo ser afetada de manei ra apre-
ci vel tanto pel a quanti dade quanto pel a qual i dade do pei xe de que di spor.
Di z-se tambm que a produo das mi nas, entre as quai s devemos
contar as pedrei ras e ol ari as, est sujei ta l ei do rendi mento decres-
cente; mas essa afi rmao presta-se a i nterpretaes equ vocas. ver-
dade que encontramos conti nuamente uma di fi cul dade crescente em
obter um supri mento mai or de mi nerai s, a menos que consi gamos um
crescente poder sobre os tesouros naturai s atravs de mel horamentos
na tcni ca da mi nerao e de um conheci mento mel hor do contedo
da crosta terrestre; e no h dvi da de que, no vari ando as outras
condi es, a cont nua apl i cao de capi tal e trabal ho nas mi nas resul -
tar numa taxa decrescente de rendi mento. Mas esse rendi mento no
um rendi mento lquido como o de que fal amos na l ei do rendi mento
decrescente. Esse rendi mento parte de uma renda constantemente
repeti da, enquanto a produo das mi nas meramente uma apreenso
dos seus tesouros acumul ados. O produto do campo al go di verso do
proveni ente do sol o, poi s o campo, se bem cul ti vado, guarda a ferti l i -
dade. Mas o produto da mi na parte da prpri a mi na.
Em outros termos, a oferta dos produtos da agri cul tura e da
pesca uma corrente perene; as mi nas so como que reservatri os da
Natureza. Quanto mai s rpi do um reservatri o se exaure, mai or o tra-
bal ho de esvazi -l o; mas, se um homem o esgotasse em dez di as, dez
homens o fari am em um di a, e uma vez esgotado, nada mai s dar.
Assi m as mi nas que esto sendo abertas este ano poderi am mui to bem
ter si do abertas h mui tos anos: se os pl anos ti vessem si do assentados
com antecednci a, di spostos para o servi o, o capi tal e o pessoal ne-
cessri os, dez anos de supri mento de carvo poderi am ser obti dos em
um ano, sem nenhuma di fi cul dade mai or. E desde que um vei o esgotou
o seu depsi to, no mai s produzi r. Essa di ferena i l ustrada pel o fato
de que a renda da mi na calculada segundo um princ pi o di ferente do
que se apl i ca de uma fazenda. O agri cultor contrata devolver a terra
to ri ca quanto recebeu: uma companhia mi neira no pode fazer o mesmo;
e, enquanto a renda paga pel o agri cul tor calculada por ano, a renda da
mi na consi ste pri nci pal mente em royalties que so cobrados em proporo
das quanti dades extra das dos depsi tos naturai s.
179
Por outro l ado, os servi os que a terra presta ao homem, dando-l he
espao, l uz e ar no qual vi ver e trabal har, obedecem estri tamente
MARSHALL
229
179 Como di z Ri cardo (Principles. Cap. I I ) A compensao dada (pel o arrendatri o) por
uma mi na ou pedrei ra paga pel o val or do carvo ou da pedra que pode ser extra da
del as, e no tem rel ao com as foras ori gi nai s e i ndestrut vei s da terra. Mas tanto el e
quanto outros parecem por vezes perder de vi sta essas di sti nes, ao di scuti rem a l ei do
rendi mento decrescente em sua apl i cao s mi nas. especi al mente o caso da cr ti ca de
Ri cardo teori a da renda de Adam Smi th (Principles. Cap. XXI V).
l ei do rendi mento decrescente. vantajoso apl i car um capi tal sempre
crescente numa terra que goza de vantagens especi ai s de si tuao,
quer naturai s, quer adqui ri das. As construes se l anam para o cu,
a l uz e a venti l ao naturai s so supl ementadas por mei os arti fi ci ai s,
e os el evadores atenuam a i nconveni nci a dos pavi mentos mai s al tos,
e a esse gasto corresponde uma conveni nci a adi ci onal , mas rendi -
mento decrescente. Contudo, por grande que seja o preo do arrenda-
mento de um terreno, chega-se fi nal mente a um l i mi te, depoi s do qual
mel hor pagar mai s por uma rea mai or do que empi l har andar sobre
andar; tal como o agri cul tor que chegou a um ponto em que uma cul tura
mai s i ntensi va no mai s compensar as despesas, e mel hor pagar
mai s renda por um terreno adi ci onal do que enfrentar a di mi nui o
no rendi mento que pode obter do emprego de mai s capi tal e trabal ho
em sua anti ga terra.
180
Da resul ta que a teori a das rendas dos terrenos
de construo substanci al mente a mesma da rel ati va aos terrenos
rurai s. Estes e outros fatos semel hantes nos permi tem hoje si mpl i fi car
e general i zar a teori a do val or que Ri cardo e Mi l l apresentaram.
E o que certo para os terrenos edi fi cvei s o para mui tas
outras coi sas. Se um fabri cante possui , di gamos, trs mqui nas de
apl ai nar, exi ste uma certa quanti dade de trabal ho que el e pode faci l -
mente obter del as. Se quer faz-l as trabal har mai s, deve economi zar
l abori osamente cada mi nuto durante o horri o normal e tal vez traba-
l har horas extraordi nri as. Assi m, depoi s que esto bem aprovei tadas,
cada apl i cao sucessi va de esforo nel as d-l he um rendi mento de-
crescente. Por fi m, o rendi mento l qui do to pequeno que el e acha
mai s barato comprar uma quarta mqui na do que forar a tanto tra-
bal ho suas mqui nas vel has, tal como um agri cul tor que j cul ti vou
i ntensamente sua terra acha mai s vantagem arrendar uma extenso
mai or do que forar a que j est trabal hada a produzi r mai s. Na
verdade, sob certos pontos de vi sta o rendi mento da maqui nari a par-
ti ci pa da natureza da renda, como ser demonstrado no Li vro Qui nto.
NOTA SOBRE A LEI DO RENDIMENTO DECRESCENTE
8. A el asti ci dade da noo de rendi mento decrescente no pode
ser i ntei ramente consi derada aqui , j que no seno um i mportante
detal he desse grande probl ema geral da di stri bui o econmi ca dos
recursos na i nverso de capi tal , que a base do pri nci pal tema do
Li vro Qui nto, e mesmo de uma grande parte de todo o vol ume. Todavi a,
OS ECONOMISTAS
230
180 Natural mente, o rendi mento do capi tal i nvesti do em construes aumenta nas pri mei ras
doses. Mesmo quando se pode obter o terreno por quase nada, mai s econmi co construi r-se
casas de doi s pavi mentos do que de um; e at aqui se tem consi derado mai s econmi co
construi r fbri cas de quatro andares. Mas na Amri ca se expande a crena de que, onde
a terra no mui to cara, as fbri cas devem ser apenas de doi s pavi mentos, em parte para
evi tar os maus efei tos da vi brao, e dos di spendi osos al i cerces e paredes necessri os para
evi t-l o num edi f ci o el evado; i sto , acha-se que o rendi mento em acomodao di mi nui
vi si vel mente depoi s que se gasta no terreno o capi tal e o trabal ho preci sos para l evantar
os doi s pavi mentos.
umas poucas l i nhas a esse respei to parecem apropri adas aqui , porque
mai s nfase se tem dado recentemente ao assunto, sob a competente
e sugesti va l i derana do prof. Carver.
181
Se um fabri cante gasta uma soma desproporci onal de seus re-
cursos em maqui nri o, de sorte que uma parte consi dervel del e fi ca
habi tual mente oci osa; ou em construes, de modo a no fi car uma
parte avul tada do seu espao bem ocupada; ou em seu pessoal de es-
cri tri o, tendo assi m que empregar parte del e em trabal ho que no
val e o que custa; ento seu di spndi o nessa di reo no ser to re-
munerati vo como foi o gasto anteri or, e pode di zer-se que l he d um
rendi mento decrescente. Mas esse emprego da expresso, embora es-
tri tamente correto, capaz de desori entar se no usado com precauo.
Poi s, quando a tendnci a ao rendi mento decrescente, obti do de trabal ho
e capi tal supl ementares apl i cados na terra, ti da como um exempl o
especi al da tendnci a geral ao rendi mento decrescente de qual quer
agente da produo empregado em proporo excessi va rel ati vamente
aos outros agentes, est-se i ncl i nado a dar como estabel eci do que a
oferta dos outros fatores pode ser aumentada. Quer di zer, est-se ex-
posto a negar a exi stnci a daquel a condi o a fi xi dez do total de
terra cul ti vvel num vel ho pa s que foi o pri nci pal fundamento das
grandes di scusses cl ssi cas da l ei do rendi mento decrescente, que te-
mos estado consi derando. Mesmo ao agri cul tor i ndi vi dual no sempre
poss vel obter dez ou ci nqenta acres adi ci onai s pegados sua gl eba,
preci samente quando del es preci se, sal vo a um preo proi bi ti vo. E a
esse respei to a terra di fere da mai ori a dos outros agentes de produo,
mesmo do ponto de vi sta i ndi vi dual . Essa di ferena, com efei to, pode
ser ti da como de pequena monta em rel ao a um agri cul tor i ndi vi -
dual mente. Mas, do ponto de vi sta soci al , do ponto de vi sta dos cap tul os
segui ntes sobre popul ao, vi tal . Exami nemos esse ponto.
Em todas as fases de qual quer ramo de produo h uma certa
di stri bui o dos recursos entre as vri as despesas, que d um resul tado
mel hor que qual quer outra. Quanto mai s hbi l o homem no control e
de qual quer negci o, mai s prxi mo ati ngi r a di stri bui o i deal , da
mesma sorte que, quanto mai s hbi l a pri mi ti va dona de casa no con-
trol e do estoque de l , mai s se aproxi mar da sua di stri bui o i deal
entre as di ferentes necessi dades da fam l i a.
182
Se o negci o se expande, el e aumentar o uso de cada requi si to
MARSHALL
231
181 Ver tambm os escri tos dos profs. Bul l ock e Landry.
182 Ni sso el e far l argo uso do que se denomi na mai s adi ante Substi tui o de mei os menos
apropri ados por outros mai s apropri ados. Di scusses rel aci onadas di retamente com este
pargrafo encontram-se no Li vro Tercei ro, cap. V, 1-3; no Li vro Quarto, cap. VI I , 8, e
cap. XI I I , 2; no Li vro Qui nto, cap. I I I , 3; cap. I V, 1-4; cap. V, 6-8; cap. VI I I , 1-5;
cap. X, 3, e no Li vro Sexto, cap. I , 7, e cap. I I , 5.
As tendnci as uti l i dade decrescente e ao rendi mento decrescente tm suas ra zes, uma
nas qual i dades da natureza humana, a outra nas condi es tcni cas da i ndstri a. Mas as
di stri bui es de recursos, s quai s se referem, so governadas por l ei s exatamente seme-
l hantes. Em l i nguagem matemti ca, os probl emas de mxima e mnima a que do ori gem
so expressos pel as mesmas equaes gerai s.
de produo na devi da proporo; mas no, como se tem di to por vezes,
proporci onal mente; por exempl o, a proporo entre o trabal ho manual
e o trabal ho mecni co, apropri ada a uma pequena fbri ca de mvei s,
no o ser a uma grande. Se faz a mel hor di stri bui o poss vel de
seus recursos, obtm o mai or rendi mento (margi nal ) de produo de
que seja capaz o negci o, para cada apl i cao. Se numa dada apl i cao
se excede, obter nel a um rendi mento decrescente; porque as outras
no esto aptas a segui -l a adequadamente. E esse rendi mento decres-
cente anl ogo ao que o agri cul tor obtm quando cul ti va a terra to
i ntensi vamente que passa a ter um rendi mento decrescente. Se o agri -
cul tor puder obter mai s terra mesma renda que a anti ga, a tomar,
sob pena de l he ati ngi r a i mputao de ser um mau homem de negci os:
e i sso i l ustra o fato de que a terra, do ponto de vi sta do agri cul tor
i ndi vi dual , si mpl esmente uma forma de capi tal .
Mas, quando economi stas mai s anti gos fal avam da l ei do rendi -
mento decrescente, encaravam os probl emas da agri cul tura no s do
ponto de vi sta i ndi vi dual do l avrador, mas da nao em conjunto. Assi m,
se a nao como um todo constata que seu estoque de pl ai nas mecni cas
ou de arados desproporci onal mente grande ou pequeno, el a pode
redi stri bui r os seus recursos, pode obter mai s daqui l o de que carece,
enquanto gradati vamente reduz o estoque das coi sas de que h supe-
rabundnci a, mas i sso no poder fazer em rel ao terra: pode cul -
ti v-l a mai s i ntensi vamente, mas el a no pode consegui r mai s. E por
esse moti vo os vel hos economi stas i nsi sti am judi ci osamente em que,
do ponto de vi sta soci al , a ter r a no est exatamente em p de
i gual dade com aquel es agentes da pr oduo que o homem pode au-
mentar sem l i mi te.
Sem dvi da, num pa s novo em que exi ste abundnci a de terra ri ca
ai nda vi rgem, essa fi xi dez da quanti dade total de terra i noperante. Os
economi stas ameri canos di zem freqentemente que o val or ou renda da
terra vari a com a di stnci a dos bons mercados mai s que com a ferti l i dade,
porque mesmo presentemente h uma grande poro de terras ri cas em
seu pa s, ainda no cul ti vadas i ntei ramente. E do mesmo modo, el es atri -
buem pequena i mportnci a ao fato de no estar o rendi mento decrescente
do trabal ho e do capi tal apl i cados terra por l avradores prudentes, num
pa s como a I ngl aterra, exatamente no mesmo p do rendi mento decres-
cente de uma inverso i nadequada de recursos, por agri cul tores ou fabri -
cantes imprudentes, numa quanti dade desproporci onalmente grande de
arados ou de mquinas de aplainar.
certo que, quando se general i za a tendnci a ao rendi mento
decrescente, o rendi mento suscet vel de ser expresso em termos de
val or e no de quanti dade. Todavi a, deve-se admi ti r que os vel hos
mtodos de medi r o rendi mento em termos de quanti dade freqente-
mente se chocam com a di fi cul dade de i nterpretar corretamente uma
dose de trabal ho e capi tal sem a ajuda da medi da em di nhei ro, e que,
OS ECONOMISTAS
232
embora tei s para um l argo apanhado prel i mi nar, no podem ser l e-
vados mui to al m.
Mas at o recurso de uti l i zar o di nhei ro nos fal ha se queremos
comparar com uma medi da comum a produti vi dade das terras em di fe-
rentes pocas e l ugares; temos de recorrer ento a mtodos de medi o
aproxi mados, mai s ou menos arbi trri os, que no pretendem preci so
numri ca; mas que sero, contudo, sufi ci entes para os fi ns usuais da Hi s-
tri a. Devemos ter em conta que h grandes vari aes nas quotas rel ati vas
de trabal ho e capi tal que se combi nam numa dose, e que o juro do capi tal
geral mente um i tem mui to menos i mportante nos estgi os atrasados
da agri cul tura do que nos adi antados, a despei to de ser a taxa de juros
geral mente mui to mai s bai xa nesses l ti mos. Para a mai ori a dos fi ns,
tal vez mel hor adotar como medi da comum um di a de trabal ho no qua-
l i fi cado de uma dada efi ci ncia: considerar amos ento a dose consti tu da
de tanto trabal ho de di ferentes qual i dades e de tantas cargas para juros
e amorti zao do capi tal , quanto juntos perfi zessem, di gamos, dez di as
daquel e trabal ho-padro, fi xadas as propores desses el ementos e seus
di versos val ores em termos de tal trabal ho, de acordo com as ci rcunstncias
especi ai s de cada probl ema.
183
Encontramos di fi cul dade semel hante ao comparar os rendi mentos
obti dos de trabal ho e capi tal apl i cados em di ferentes ci rcunstnci as.
Tanto quanto as col hei tas so da mesma natureza, o montante do
rendi mento pode ser medi do pondo uma col hei ta em rel ao outra;
mas, sendo di versas, no se podem comparar sal vo se reduzi dos os
rendi mentos a uma comum medi da de val or. Quando, por exempl o, se
di z que a terra dari a mel hores rendi mentos ao capi tal e trabal ho gastos
nel a, com uma pl antao ou uma dada rotao de cul ti vos do que com
outra, deve entender-se que a afi rmao s correta com base nos
preos da ocasi o. Em tal caso, devemos tomar o per odo i ntei ro da
rotao admi ti ndo que a terra esteja, tanto no comeo como no fi m da
rotao, nas mesmas condi es; e l evando em conta de um l ado todo
o trabal ho e capi tal empregados durante o per odo i ntei ro, e do outro
os rendi mentos gl obai s de todas as col hei tas.
Deve ser recordado que o rendi mento devi do a uma dose de tra-
bal ho e capi tal no tomado aqui i ncl ui ndo o val or do capi tal em si .
Por exempl o, se parte do capi tal empregado em uma fazenda consi ste
em novi l hos de doi s anos, ento os rendi mentos de um ano de trabal ho
e capi tal no i ncl ui ro o peso total desse gado no fi m do ano, mas
somente o aumento que ti veram durante o ano. Do mesmo modo, quan-
do se di z que um agri cul tor trabal ha com um capi tal de 10 l i bras
esterl i nas por acre, este i ncl ui o val or de tudo o que el e possui na
MARSHALL
233
183 A quota-trabal ho da dose natural mente trabal ho agr col a corrente; a quota-capi tal
tambm por si mesma o produto do trabal ho prestado no passado por trabal hadores de
mui tos ti pos e graus, acompanhados por agregados.
fazenda; mas o vol ume total das doses de trabal ho e capi tal apl i cadas
na expl orao durante, di gamos, um ano no i ncl ui o val or total do
capi tal fi xo, como mqui nas e caval os, mas s o val or de seu uso,
depoi s de dedues para juros, depreci ao e reparos, se bem que com-
preenda o i ntei ro val or do capi tal ci rcul ante, como as sementes.
O mtodo de mensurao do capi tal que acabamos de expor o
geral mente adotado e deve ter-se como subentendi do, sal vo i ndi cao
em contrri o; mas, em al gumas ocasi es, outro mtodo pode ser mai s
recomendvel . Por vezes conveni ente fal ar como se todo o capi tal
apl i cado fosse capi tal ci rcul ante apl i cado no comeo do ano ou durante
el e: nesse caso, tudo o que est na fazenda no fi m do ano faz parte
do produto. Assi m, o gado novo consi derado uma espci e de mat-
ri a-pri ma transformada no curso do tempo em gado gordo, pronto para
o abate. Os i nstrumentos agr col as mesmo podem ser tratados de i gual
manei ra, tomados seus val ores, no comeo do ano, como um capi tal
ci rcul ante col ocado na fazenda, e ao encerrar o exerc ci o, como produto.
Esse processo nos habi l i ta a evi tar em grande parte a repeti o de
cl usul as condi ci onantes, como sobre depreci ao etc., e a poupar de
mui tas manei ras o uso de pal avras. freqentemente o mel hor mtodo
para raci oc ni os gerai s de carter abstrato, parti cul armente se expres-
sos em forma matemti ca.
A l ei do rendi mento decrescente ti nha que ocupar os homens de
pensamento em todo pa s densamente povoado. Foi enunci ada pel a
pri mei ra vez cl aramente por Turgot (Oeuvres. Ed. Dai re, I , p. 420, 1),
184
como mostrou o prof. Cannan; e suas pri nci pai s apl i caes foram de-
senvol vi das por Ri cardo.
OS ECONOMISTAS
234
184 Robert Jacques Turgot, baro de LAui ne (1727-1781), homem pbl i co e economi sta francs,
col aborador da Encyclopdie e autor de uma obra de Economi a Rflexions sur la Formation
et la Distribution des Richesses (1776). Quando no Governo, promoveu i mportantes
reformas econmi cas vi sando a l i berdade de comrci o e de trabal ho (1774/76). Sua doutri na
foi , a pri nc pi o, i nfl uenci ada pel os fi si ocratas, mas del es se afastou, ressal tando a uti l i dade
da i ndstri a e do comrci o. (N. dos T.)
CAPTULO IV
O Crescimento da Populao
1. A produo de ri queza no mai s que um mei o para o
sustento do homem, para sati sfao das suas necessi dades e do desen-
vol vi mento de suas ati vi dades f si cas, mentai s e morai s. Mas o prpri o
homem o pri nci pal i nstrumento dessa produo, de que o fi m l -
ti mo.
185
Este e os doi s cap tul os segui ntes estudaro a oferta de tra-
bal ho, i sto , o desenvol vi mento da popul ao, em nmero, vi gor, co-
nheci mento e carter.
No mundo ani mal e vegetal , o cresci mento em nmero regi do,
de um l ado, pel a tendnci a dos i ndi v duos a propagar a espci e, e, de
outro, pel a l uta pel a vi da, que el i mi na mui tos exempl ares novos antes
que cheguem maturi dade. Somente na raa humana o confl i to dessas
duas foras contrri as compl i cado por outras i nfl unci as. De uma
parte, as perspecti vas do futuro l evam mui tos i ndi v duos a refrear
seus i mpul sos naturai s; por vezes com a i nteno de mel hor cumpri r
as suas obri gaes como pai s; outras vezes, como no exempl o de Roma
sob o I mpri o, por moti vos subal ternos. De outra parte, a soci edade
exerce presso sobre o i ndi v duo medi ante sanes rel i gi osas, morai s
e l egai s, ora com o i ntento de apressar, ora com o objeti vo de retardar
o cresci mento da popul ao.
O estudo do cresci mento da popul ao consi derado freqente-
mente al go moderno. Mas, numa forma mai s ou menos vaga, el e tem
ocupado a ateno dos pensadores de todas as pocas. sua i nfl unci a,
freqentemente no procl amada, e mesmo por vezes nem cl aramente
reconheci da, que podemos atri bui r grande parte das regras, costumes
e ceri mni as i nsti tu das no Ori ente e no Oci dente pel os l egi sl adores,
moral i stas e pel os pensadores anni mos, cuja cl ari vi dnci a dei xou as
suas marcas nos hbi tos naci onai s. Entre as raas vi gorosas, e nas
235
185 Vi de Li vro Quarto. Cap. I , 1.
pocas de grandes confl i tos armados, esti mul ou-se o aumento do n-
mero de homens capazes de empunhar armas; nas etapas mai s avan-
adas do progresso, i ncul cavam um grande respei to pel a santi dade da
vi da humana, mas nas pocas mai s atrasadas encorajaram e mesmo
compel i ram morte i nvl i dos e anci es, e por vezes certa proporo
de cri anas do sexo femi ni no.
Na anti ga Grci a e Roma, com a vl vul a de segurana do poder
de fundar col ni as e em presena de constantes guerras, um aumento
do nmero dos ci dados era vi sto como uma fonte de fora col eti va; o
casamento era esti mul ado pel a opi ni o pbl i ca, e em mui tos casos
mesmo pel a l ei ; no obstante al guns pensadores, mesmo ento, se aper-
cebessem de que uma ao em contrri o podi a ser necessri a se os
encargos da paterni dade cessassem um di a de pesar sobre os pai s.
186
Em tempos posteri ores pode-se observar, como di sse Roscher,
187
que a
concepo de que o Estado devi a encorajar o cresci mento da popul ao
sofreu um movi mento regul ar de fl uxo e de refl uxo. Estava na preamar
na I ngl aterra, sob os doi s pri mei ros Tudor, mas no curso do scul o
XVI enfraqueceu; e comeou a cai r quando a abol i o do cel i bato ecl e-
si sti co e a mai or prosperi dade do pa s deram um i mpul so sens vel
popul ao, enquanto a procura efeti va de mo-de-obra ti nha di mi nu do
pel o desenvol vi mento do pastorei o e pel o col apso da parte do si stema
i ndustri al organi zado pel os estabel eci mentos monsti cos. Mai s tarde,
o cresci mento da popul ao foi entravado pel a el evao do padro de
conforto, efeti vado com a adoo geral do tri go como al i mentao bsi ca
dos i ngl eses na pri mei ra metade do scul o XVI I I . Nessa poca, temi a-se
mesmo o que pesqui sas posteri ores mostraram ser i nfundado, que a
popul ao esti vesse decrescendo. Petty
188
anteci pou al guns dos argu-
mentos de Carey e de Waketi el d sobre as vantagens de uma popul ao
densa. Chi l d afi rmava que tudo que tende para despovoar um pa s
tende a empobrec-l o, e que a mai ori a das naes no mundo ci vi l i zado
so mai s ou menos ri cas ou pobres proporci onal mente ao pequeno n-
OS ECONOMISTAS
236
186 Assi m, Ari sttel es (Poltica, I I , 6) objeta ao projeto de Pl ato de i gual ar a propri edade e
abol i r a pobreza, que i sso s seri a poss vel se o Estado exercesse um fi rme control e sobre
o cresci mento da popul ao. E como Jowett assi nal ou, o prpri o Pl ato se apercebeu di sso
(Ver Leis. v. 740 e ARI STTELES. Poltica. VI I , 16). A opi ni o, antes sustentada, de que
a popul ao da Grci a decl i nou a parti r do scul o VI I a.C. e a de Roma a parti r do I I I ,
foi recentemente questi onada. Ver MEYER, Edounard. Di e Bevl kerung des Al tertums.
I n: Handwrterbuch der Staatswissenschaften.
187 Political Economy. 254.
188 El e
*
sustenta que a Hol anda mai s ri ca do que parece em rel ao Frana, porque seu
povo pode benefi ci ar-se de mui tas vantagens i nacess vei s aos que vi vem em terras mai s
pobres e por i sso mui to espal hados. Terra ri ca mel hor do que terra grossa da mesma
renda Political Arithmetick. Cap. I .
*
Si r Wi l l i am Petty (1623-1687), mdi co e economi sta i ngl s, consel hei ro de Cromwel l e de
Carl os I I , defendi a a l i berdade de comrci o e foi um dos pri mei ros a afi rmar que o preo
das mercadori as determi nado pel o trabal ho necessri o sua produo. (N. dos T.)
mero ou abundnci a de sua popul ao, e no esteri l i dade ou fer-
ti l i dade de seu sol o.
189
No mai s aceso da l uta mundi al contra a Frana,
quando a convocao de mai s e mai s tropas se i ntensi fi cava, e as i n-
dstri as recl amavam mai s braos para suas novas mqui nas, a i ncl i -
nao das cl asses di ri gentes a favor de um aumento da popul ao se
acentuou vi gorosamente. Esse movi mento de opi ni o chegou a um tal
ponto que, em 1796, Pi tt decl arou que um homem que enri queceu o
seu pa s com grande nmero de fi l hos ti nha di rei to a ser assi sti do por
el e. Uma l ei , passada em mei o s preocupaes mi l i tares de 1806 e
que concedi a i seno de i mpostos aos pai s com mai s de doi s fi l hos
l eg ti mos, foi revogada assi m que Napol eo foi confi nado com segurana
em Santa Hel ena.
190
2. Mas durante todo esse tempo, entre os que refl eti am mai s
seri amente sobre os probl emas soci ai s, cresci a a convi co de que um
desordenado cresci mento da popul ao, fortal ecendo ou no o Estado,
devi a fatal mente causar uma grande mi sri a, e de que os di ri gentes
no ti nham o di rei to de subordi nar a fel i ci dade i ndi vi dual ao engran-
deci mento do Estado. Na Frana parti cul armente, como vi mos, foi pro-
vocada uma reao pel o ego smo c ni co com que a corte e seus apani -
guados sacri fi cavam o bem-estar do povo pel o seu l uxo e sua gl ri a
mi l i tar. Se as i di as humani tri as dos fi si ocratas ti vessem podi do ven-
cer a fri vol i dade e a dureza das cl asses pri vi l egi adas da Frana, o
scul o XVI I I no teri a tal vez expi rado no mundo e na carni fi ci na, a
marcha da l i berdade na I ngl aterra no teri a si do deti da e o progresso
numa s gerao teri a i do al m do que est hoje. Mas no estado em
que estavam as coi sas, pouca ateno se prestou ao protesto cautel oso
mas enrgi co de Quesnay: Mai s do que aumentar a popul ao, o que
se deve aumentar a renda naci onal , poi s uma si tuao de mai or
MARSHALL
237
189 Discourses on Trade. Cap. X. Harri s di z o mesmo, no Essay on Coins, pp. 32-33, e prope
o encorajamento do matri mni o entre as cl asses bai xas, medi ante a outorga de certos
pri vi l gi os aos que tm fi l hos etc.
190 "Faamos", di zi a Pi tt, da assi stnci a um di rei to e uma honra para os que tm um grande
nmero de fi l hos, em l ugar de um moti vo de oprbri o e de menosprezo. Uma fam l i a
numerosa ser ento uma bno e no mal di o, e se traar uma l i nha justa de demarcao
entre os que se podem bastar pel o trabal ho, e os que, aps terem enri queci do sua ptri a
com mui tos fi l hos, tm di rei to a ser protegi dos por el a. Natural mente el e desejava de-
sencorajar a assi stnci a onde no fosse necessri a. Napol eo I ti nha ofereci do tomar por
sua conta um membro de qual quer fam l i a que ti vesse sete fi l hos vares; e Lu s XI V, seu
predecessor no massacre de homens, i sentou de i mpostos todos os que casassem antes dos
20 ou que ti vessem mai s de dez fi l hos l eg ti mos. A comparao do rpi do cresci mento da
popul ao al em em rel ao francesa foi a pri nci pal razo que l evou a Cmara francesa
a ordenar que a educao e o sustento do sti mo fi l ho das fam l i as necessi tadas fossem
assumi dos pel o Estado: e em 1913 foi promul gada uma l ei concedendo abonos, sob certas
condi es, aos pai s de grandes prol es. A l ei i ngl esa de oramento para 1909 favoreceu um
pequeno abati mento no i mposto de renda para os pai s de fam l i a.
conforto resul tante de uma boa renda prefer vel de uma popul ao
excessi va rel ati vamente aos seus rendi mentos e em carnci a cont nua
dos mei os de subsi stnci a.
191
Adam Smi th pouco fal ou sobre a questo da popul ao, poi s, com
efei to, escreveu num dos momentos cul mi nantes da prosperi dade das
cl asses operri as; mas o que di sse sbi o, bem pesado e num tom
moderno. Acei tando a doutri na fi si ocrti ca como base, corri gi u-a, i n-
si sti ndo sobre o fato de que as coi sas necessri as vi da no so em
quanti dade fi xa e determi nada, porm mui to vari ada de l ugar para
l ugar e de tempo para tempo, e podem vari ar ai nda mai s.
192
Mas no
desenvol veu i ntei ramente essa i di a. E nada o l evou a prever a segunda
grande restri o doutri na fi si ocrti ca, marcante em nossa poca, de-
corrente do fato de transportar-se tri go do centro da Amri ca at Li -
verpool por menos que o custo do transporte atravs da I ngl aterra.
O scul o XVI I I chegava ao seu trmi no e o novo scul o comeava,
cada ano a condi o das cl asses trabal hadoras na I ngl aterra se tornando
mai s sombri a. Uma sri e espantosa de ms col hei tas,
193
uma guerra
rui nosa
194
e uma revol uo nos mtodos da i ndstri a, que desfez vel hos
l aos, combi naram-se com uma i mprudente l ei de amparo aos pobres
(Poor Law) para l evar as cl asses trabal hadoras mai or mi sri a que
jamai s sofreram, pel o menos de que se tem not ci a a parti r de regi stros
fi dedi gnos da hi stri a soci al i ngl esa.
195
E, para coroar tudo, entusi astas
OS ECONOMISTAS
238
191 A doutri na fi si ocrti ca sobre a tendnci a da popul ao de aumentar at o l i mi te dos mei os
de subsi stnci a foi expressa por Turgot, nestas pal avras: o empregador, como sempre pode
escol her entre um grande nmero de trabal hadores, escol he o que trabal he mai s barato.
Em concorrnci a uns com os outros, os operri os so compel i dos a bai xar o preo. Em todo
gnero de trabal ho deve suceder, e sucede de fato, que o sal ri o do trabal hador se l i mi ta
ao que l he necessri o para a subsi stnci a. (Sur la Formation et la Distribution des
Richesses. VI ). Si r James Steuart (I nquiry, Li vro Pri mei ro. Cap. I I I ) di sse no mesmo
senti do: A capaci dade procri adora se assemel ha a uma mol a forada por um peso, a qual
se expande na proporo da di mi nui o da resi stnci a: quando os al i mentos permanecem
estaci onri os al gum tempo, sem aumentar nem di mi nui r, a popul ao cresce tanto quanto
poss vel ; se as provi ses vm a cai r, a mol a fi ca sobrecarregada, sua fora se anul ar, os
habi tantes di mi nui ro ao menos em proporo sobrecarga. Se ao contrri o aumentam os
al i mentos, a mol a, que estava a 0, comear a se expandi r proporci onal mente di mi nui o
da resi stnci a, a popul ao passar a se al i mentar mel hor e se mul ti pl i car, e, medi da
que cresce o seu nmero, os al i mentos tornar-se-o outra vez escassos. Si r James Steuart
era mui to i nfl uenci ado pel os fi si ocratas, e na verdade mai s i mbu do das i di as pol ti cas
conti nentai s que das i ngl esas; e seus projetos arti fi ci osos para regul ar a popul ao parecem
para ns mui to remotos. Ver seu I nquiry. Li vro Pri mei ro. Cap. XI I . Da grande vantagem
de combi nar uma teori a bem el aborada e um perfei to conheci mento dos fatos com a i nter-
veno do Governo para mul ti pl i car a popul ao.
192 Ver Wealth of Nations. Li vro Pri mei ro. Cap. VI I I , e Li vro Qui nto. Cap. I I , e tambm aci ma,
Li vro Segundo. Cap. I V.
193 O preo mdi o do tri go na dcada 1771/80, na qual Adam Smi th escreveu, foi de 34 s. 7
d.; na 1781/90, foi 37 s. 1 d.; na 1791-1800, foi 63 s. 6 d.; na 1801/10, 83 s. 11 d.; na
1811/20, 87 s. 6 d.
194 No comeo do l ti mo scul o, os i mpostos no I mpri o na mai or parte i mpostos de guerra
el evaram-se a 1/5 de toda a renda do pa s; enquanto hoje no passam mui to de 1/20,
e em grande parte mesmo so gastos em educao e outros benef ci os que o Governo ento
no provi a.
bem-i ntenci onados, pri nci pal mente sob a i nfl unci a francesa, propu-
nham esquemas comuni stas que permi ti ri am ao povo descarregar sobre
a soci edade a i ntei ra responsabi l i dade de cri ar seus fi l hos.
196
Assi m, enquanto o servi o de recrutamento e o patro recl amavam
medi das para acel erar o cresci mento da popul ao, homens de vi so
mai s l arga comearam a i nvesti gar se a raa poderi a escapar degra-
dao, caso a popul ao conti nuasse a crescer. Desses estudi osos, o
pri nci pal foi Mal thus, e o seu Essay on the Principle of Population
o ponto de parti da de todas as pesqui sas modernas sobre a matri a.
3. A argumentao de Mal thus consi ste em trs partes, que
mi ster di sti ngui r. A pri mei ra, rel ati va oferta de mo-de-obra. Por
um estudo meti cul oso dos fatos, prova que todos os povos, de cuja
hi stri a temos um conheci mento documental , foram to prol fi cos que
o seu progresso em nmero teri a si do rpi do e cont nuo, se no fosse
conti do seja pel a escassez de coi sas necessri as vi da, seja por outra
causa qual quer, como a doena, a guerra, o i nfanti c di o, ou por l ti mo
a restri o vol untri a.
A segunda parte se rel aci ona com a procura de mo-de-obra.
Como a pri mei ra, baseada em fatos, mas numa cl asse de fatos di fe-
rentes. El e demonstra que, at o momento em que escreveu, nenhum
pa s (em oposi o a uma ci dade como Roma ou Veneza) pde obter
um supri mento abundante de coi sas necessri as vi da depoi s que seu
terri tri o fi cou densamente povoado. A produo que a natureza d
em troca do trabal ho humano a sua procura efeti va de popul ao.
E mostra que at aquel e momento um rpi do aumento da popul ao,
quando j densa, no l evou a um aumento proporci onal dessa procura.
197
Na tercei ra parte el e formul a a concl uso de que o aconteci do
no passado dever suceder no futuro; e que o cresci mento da popul ao
seri a i mpedi do pel a pobreza ou qual quer outra causa de sofri mento,
a no ser que o seja pel a restri o vol untri a. Convi da ento o povo
MARSHALL
239
195 Ver abai xo o 7, e aci ma, Li vro Pri mei ro. Cap. I V, 5-6.
196 Notadamente GODWI N, em seu I nquiry Concerning Political J ustice (1792). i nteressante
confrontar a cr ti ca de Mal thus a esse ensai o (Li vro Tercei ro. Cap. I I ) com os comentri os
de Ari sttel es sobre a Repblica de Pl ato (ver especi al mente Poltica, I I , 6).
197 Mas mui tos dos seus cr ti cos o supem como tendo exposto sua opi ni o com mui to menos
reservas do que na real i dade; esqueceram passagens como esta: Comparando o estado da
soci edade em i dades pri mi ti vas com o da poca atual , posso di zer com segurana que os
mal es resul tantes do pri nc pi o da popul ao mai s tm di mi nu do que aumentado, mesmo
com a desvantagem de uma i gnornci a quase total de sua causa verdadei ra. E, se podemos
al i mentar a esperana de que essa i gnornci a seja gradual mente di ssi pada, no parece
desarrazoado esperar que esses mal es sero reduzi dos ai nda mai s. O aumento da popul ao
absol uta, que natural mente se produzi r, s tender a enfraquecer mui to pouco essa es-
perana, uma vez que tudo depende das propores rel ati vas exi stentes entre a popul ao
e os al i mentos, e no do nmero absol uto da popul ao. Na pri mei ra parte desta obra
mostrou-se que os pa ses que possu am menos habi tantes eram, freqentemente, os que
mai s havi am sofri do os efei tos do pri nc pi o da popul ao. Essay. Li vro Quarto. Cap. XI I .
a usar dessa restri o e, vi vendo uma vi da de casti dade, a abster-se
de casar demasi adamente cedo.
198
O que di sse sobre as di sponi bi l i dades demogrfi cas, nosso ni co
i nteresse di reto neste cap tul o, permanece substanci al mente vl i do. As
mudanas que o curso dos tempos i ntroduzi u na teori a da popul ao
se refl etem pri nci pal mente na segunda e na tercei ra partes de sua
argumentao. J assi nal amos que os economi stas i ngl eses da pri mei ra
metade do scul o passado sobreesti maram a tendnci a de uma popu-
l ao crescente fazer presso sobre os mei os de subsi stnci a, e no se
pode cul par Mal thus de no ter previ sto os grandes progressos do
transporte a vapor, por terra e pel o mar, que permi ti ram aos i ngl eses
da gerao presente obter os produtos dos pa ses mai s ri cos da Terra
a um custo rel ati vamente pequeno.
Mas o fato de que no previ u essas transformaes tornou anti -
quadas na sua forma a segunda e a tercei ra partes de sua argumen-
tao, ai nda que permaneam, contudo, vl i das na essnci a em sua
mai or parte. Conti nua sendo certo que, a menos que as restri es ao
OS ECONOMISTAS
240
198 Na pri mei ra edi o de seu ensai o, 1798, Mal thus apresentou a sua argumentao sem
ajuntar uma exposi o detal hada de fatos, embora de i n ci o tenha jul gado necessri o tratar
o assunto com o estudo de fatos; como o demonstra o haver di to a Pryme (que depoi s vei o
a ser o pri mei ro professor de Economi a Pol ti ca em Cambri dge), que sua teori a foi pel a
pri mei ra vez sugeri da ao seu esp ri to numa di scusso que teve com seu pai sobre a si tuao
de al guns pa ses estrangei ros (PRYME. Recollections. p. 66). A experi nci a ameri cana
demonstrou que a popul ao, se o seu cresci mento no fosse conti do, dupl i cari a em cada
vi nte e ci nco anos. El e sustentou que, mesmo num pa s densamente povoado como a I n-
gl aterra, com seus 7 mi l hes de habi tantes, era conceb vel , embora no provvel , que uma
popul ao dupl i cada pudesse obter a dupl i cao da produo de al i mentos extra dos do
sol o i ngl s: mas que outro i ncremento i gual da popul ao no bastari a para dupl i car a
produo novamente. Tomemos i sso como regra para ns, embora certamente esteja al m
da verdade; e suponhamos que toda a produo da i l ha pudesse ser aumentada cada vi nte
e ci nco anos (i sto , a cada dupl i cao popul aci onal ) numa quanti dade de al i mentos i gual
que no momento produz; ou, em outras pal avras, numa progresso ari tmti ca. Seu
desejo de fazer-se cl aramente entendi do, como di sse Wagner em sua excel ente i ntroduo
ao estudo da popul ao (Grundlegung. 3 ed., p. 453), l evou-o a aguar demasi ado sua
doutri na e a formul -l a de manei ra to absol uta. Tomou assi m o hbi to de di zer que a
produo suscet vel de aumentar numa progresso ari tmti ca, e mui tos autores jul garam
que el e atri bu a i mportnci a frase em si , quando esta era apenas a forma resumi da de
expri mi r o que consi derava a concesso mai s extrema que se pudesse razoavel mente exi gi r
del e. O que queri a di zer, em l i nguagem moderna, era que a tendnci a para o rendi mento
decrescente, i mpl ci ta em toda a sua argumentao, comeari a a atuar fortemente depoi s
que a produo da i l ha ti vesse dobrado. Um trabal ho dupl o dari a uma produo dupl i cada;
mas o trabal ho quadrupl i cado apenas a tri pl i cari a; e o trabal ho oi to vezes aumentado no
chegari a a quadrupl i car a produo. Na segunda edi o, 1803, Mal thus se apoi ou numa
exposi o de fatos to vasta e meti cul osa, que l he deu di rei to a um l ugar entre os fundadores
da Economi a Hi stri ca; abrandou e expl anou mui tos dos pontos surpreendentes de sua
anti ga teori a, embora no ti vesse abandonado (tal como fi gurava em edi es anteri ores de
sua obra) o uso da expresso progresso ari tmti ca. Expri mi u, em parti cul ar, uma vi so
menos pessi mi sta do futuro da raa humana; confi ava em que o comedi mento moral pudesse
l i mi tar a popul ao, sem que entrassem em jogo os vel hos entraves, o v ci o e a mi sri a.
Franci s Pl ace, que no dei xou de apontar seus defei tos, escreveu em 1822 excel ente apol ogi a
sobre el e. Boas exposi es da obra de Mal thus se encontram em BONAR. Malthus and
his Work. CANNAN. Production and Distribution, 1776-1848 e NI CHOLSON. Political
Economy. Li vro Pri mei ro. Cap. XI I .
aumento da popul ao que estavam em vi gor nos fi ns do scul o XI X
sejam i ncrementadas em seu todo (el as certamente se modi fi caro nas
regi es ai nda i mperfei tamente ci vi l i zadas), ser i mposs vel que se es-
tendam os hbi tos de conforto da Europa oci dental sobre o mundo
i ntei ro e que se mantenham por mui tos scul os. Mas sobre i sso fal a-
remos mai s, em segui da.
199
4. O cresci mento de uma popul ao depende pri mei ro do seu
aumento natural, i sto , do excesso dos nasci mentos sobre os bi tos e,
em segundo l ugar, da emi grao.
O nmero de nasci mentos depende pri nci pal mente dos costumes
rel ati vos ao casamento, cuja hi stri a pri mi ti va est chei a de ensi na-
mentos. Devemos, porm, l i mi tar-nos aqui s condi es do matri mni o
nos modernos pa ses ci vi l i zados.
A i dade de casar vari a com o cl i ma. Nos cl i mas quentes, a fe-
cundi dade reponta cedo e cedo se exti ngue; nos fri os, comea e acaba
tarde;
200
mas, em qual quer caso, quanto mai s o casamento di stanci ado
da i dade em que natural no pa s, menor a taxa de nasci mento, sendo
decerto a i dade da mul her mui to mai s i mportante a esse respei to que
a do mari do.
201
Num cl i ma dado, a i dade mdi a do casamento depende,
pri nci pal mente, da faci l i dade com que os jovens podem estabel ecer-se
e sustentar uma fam l i a de acordo com o padro de conforto que pre-
val ece entre seus ami gos e conheci dos, e, portanto, essa mdi a vari a
conforme as di ferentes posi es soci ai s.
Nas cl asses mdi as, raro a renda de um homem ati nge o seu
mxi mo antes dos quarenta ou ci nqenta anos, e as despesas de sus-
tento dos fi l hos so grandes e perduram por mui tos anos. O arteso
MARSHALL
241
199 Tomando 1,5 bi l ho como a popul ao atual do mundo, e admi ti ndo que a sua atual taxa
de cresci mento (cerca de 8 por 1 000 anual mente, segundo comuni cao de Ravenstei n
Bri ti sh Associ ati on, em 1890) conti nue, veri fi caremos que em menos de duzentos anos
subi r a 6 bi l hes, ou seja, a uma mdi a de 200 por mi l ha quadrada de terra frti l (Ra-
venstei n conta 28 mi l hes de mi l has quadradas de terras i ntei ramente frtei s, e 14 mi l hes
de campos pobres. A pri mei ra esti mati va consi derada por mui tos demasi ado el evada;
mas tendo i sso em conta, se se cal cul a a terra menos frti l pel o que val e, o resul tado ser
de cerca de 30 mi l hes de mi l has quadradas, ci fra que adotamos no cl cul o aci ma). Enquanto
i sso, haver provavel mente um grande progresso nas artes agr col as: e, assi m sendo, a
compresso demogrfi ca sobre os mei os de subsi stnci a poder ser conti da por cerca de
duzentos anos, no mai s.
200 Natural mente, a durao de uma gerao tem a sua i nfl unci a no cresci mento da popul ao.
Se de 25 anos num l ugar, e de 20 noutro, e se em cada um a popul ao dobra uma vez
em duas geraes, durante mi l anos, o aumento ser de 1 mi l ho de vezes no pri mei ro
caso e de 30 mi l hes no segundo.
201 O dr. Ogl e (Statistical J ournal. v. 53) cal cul a que se a i dade mdi a do casamento das
mul heres na I ngl aterra fosse retardada de ci nco anos, o nmero de fi l hos por casal , hoje
de 4,2, cai ri a para 3,1. Korsi , baseando-se no que ocorre no cl i ma rel ati vamente quente
de Budapeste, acha que de 18 a 20 anos a i dade mai s prol fi ca para as mul heres, e de
24 a 26 para os homens. Mas concl ui que aconsel hvel um pequeno adi amento do ma-
tri mni o para depoi s dessas i dades, vi sto que a vi tal i dade dos fi l hos de mul heres abai xo
de 20 anos geral mente fraca. Ver Proceedings of Congress of Hygiene and Demography.
Londres, 1892 e Statistical J ournal. v. 57.
ganha aos vi nte e um anos quase tanto quanto mai s tarde, a no ser
que suba a um posto de responsabi l i dade, mas no ganha mui to antes
dessa i dade; seus fi l hos l he so uma carga consi dervel at ati ngi rem
os qui nze anos, a menos que sejam col ocados numa fbri ca onde possam
manter-se desde cedo. O trabal hador comum ganha aproxi madamente
um sal ri o mxi mo aos dezoi to, e seus fi l hos desde cedo ganham a
prpri a vi da. Em conseqnci a, a i dade mdi a do casamento mai s
al ta nas cl asses mdi as, bai xa entre os artesos, e ai nda mai s bai xa
entre os trabal hadores no qual i fi cados.
202
Os trabal hadores no qual i fi cados, quando sua pobreza no to
grande que os pri ve do necessri o e sempre que no exi sta uma causa
externa que i mpea o aumento de seu nmero, dupl i cam, geral mente,
cada tri nta anos, quer di zer, mul ti pl i cam-se um mi l ho de vezes em
sei scentos anos e um bi l ho de vezes em mi l e duzentos anos e poder-
se-i a i nferi r da , a priori, que seu aumento esteve conti do, ocasi onal -
mente, por um per odo consi dervel . Essa deduo confi rmada pel a
Hi stri a. Em toda a Europa, na I dade Mdi a, e ai nda em al gumas das
suas partes at a poca atual , os trabal hadores sol tei ros habi tam de
ordi nri o na fazenda ou com os pai s, enquanto um casal geral mente
requer uma casa para vi ver. Quando uma al dei a tem tantos trabal ha-
dores quantos pode empregar, o nmero de casas no aumenta e os
jovens tm que esperar da mel hor manei ra que possam.
H mui tas partes da Europa, mesmo hoje, em que o costume,
com fora de l ei , i mpede que em cada fam l i a haja mai s de um fi l ho
casado. De ordi nri o o mai s vel ho, mas em al guns l ugares o mai s
jovem; e se qual quer outro fi l ho casa, deve dei xar a al dei a. Quando
OS ECONOMISTAS
242
202 O termo casamento no texto deve ser entendi do no senti do ampl o, compreendendo no s
os casamentos l eg ti mos, mas tambm as uni es l i vres sufi ci entemente durvei s para as-
sumi r, ao menos durante al guns anos, as responsabi l i dades prti cas da vi da conjugal . El as
so, no raro, contra das mui to cedo e freqentemente l evam aos casamentos l egai s, depoi s
de al guns anos. Por essa razo a i dade mdi a do casamento, no senti do l ato da pal avra,
o ni co com que nos ocupamos aqui , i nferi or mdi a de i dade do casamento l eg ti mo.
A correo que se deveri a fazer por esse concei to, para todas as cl asses de trabal hadores,
seri a provavel mente consi dervel ; mas bem mai or no caso dos trabal hadores no qual i -
fi cados do que em qual quer outra cl asse. As estat sti cas segui ntes devem ser i nterpretadas
l uz dessa observao e do fato de que todas as estat sti cas i ndustri ai s bri tni cas so
vi ci adas pel a fal ta de cui dado bastante na cl assi fi cao das cl asses trabal hadoras nos censos
ofi ci ai s. O 49 Rel atri o Anual do Regi stro Geral i nforma que em certos di stri tos sel eci onados
os regi stros de casamento de 1884/85, exami nados, apresentaram os segui ntes resul tados,
nos quai s o nmero que segue cada ocupao a mdi a de i dade dos sol tei ros ao se
casarem, e o nmero a segui r, entre parnteses, a mdi a de i dade das moas que casaram
com homens dessa ocupao: mi nei ros, 24,06 (22,46); tecel es, 24,38 (23,43); sapatei ros,
al fai ates, 24,92 (24,31); artesos, 25,35 (23,70); trabal hadores, 25,56 (23,66); empregados
no comrci o, 26,25 (24,43); l oji stas e empregados, 26,67 (24,22); agri cul tores e fi l hos, 29,23
(26,91); cl asses l i berai s e i ndependentes, 31,22 (26,40). O dr. Ogl e, no estudo j ci tado,
mostra que a taxa de casamentos mai or geral mente nas regi es da I ngl aterra onde h
uma percentagem mai or de mul heres entre 15 e 25 anos empregadas na i ndstri a. I sso
sem dvi da devi do, como sugere el e, em parte ao desejo dos homens de terem os seus
recursos supl ementados pel os de suas mul heres; mas pode tambm, em parte, ser devi do
a um excesso de mul heres em i dade de casamento nesses di stri tos.
encontramos uma grande prosperi dade materi al e ausnci a total de
extrema mi sri a, nos recantos tradi ci onal i stas do Vel ho Mundo, a ex-
pl i cao desse fenmeno est na sobrevi vnci a de tal costume, com
todos os seus mal es e di fi cul dades.
203
certo que a severi dade desse
costume pode ser ameni zada pel a emi grao, mas na I dade Mdi a a
l i vre ci rcul ao do povo era entravada por ri gorosos regul amentos. As
ci dades l i vres, verdade, freqentemente encorajavam a i mi grao do
i nteri or: mas os regul amentos das corporaes eram sob certos aspectos
quase to crui s para os que queri am escapar de suas anti gas moradas
quanto as regras i mpostas pel os prpri os senhores feudai s.
204
5. A esse respei to a si tuao do l avrador assal ari ado mudou
mui to. As ci dades esto hoje sempre abertas para el es e seus fi l hos,
e se partem para o Novo Mundo, tm possi bi l i dade de ser mai s bem-
sucedi dos que qual quer outra cl asse de i mi grante. Mas, por outro l ado,
a el evao gradual do val or da terra e sua crescente escassez tende a
entravar o aumento da popul ao em al gumas regi es onde preval ece
o si stema da pequena propri edade rural , onde no se encontra i ni ci ati va
bastante para fundar novas i ndstri as ou para emi grar, e os pai s sen-
tem que a posi o soci al de seus fi l hos depender da extenso de suas
gl ebas. Os propri etri os rurai s i ncl i nam-se a l i mi tar arti fi ci al mente o
tamanho de suas fam l i as e a encarar o casamento como um contrato
mercanti l , procurando sempre casar seus fi l hos com herdei ras. Franci s
Gal ton assi nal ou que, nas fam l i as dos pares i ngl eses, se bem que haja
geral mente grandes, o hbi to de casar o fi l ho mai s vel ho com uma
herdei ra, que presumi vel mente no de esti rpe fecunda, e por vezes
o de di ssuadi r os fi l hos menores do casamento, tm l evado exti no
de mui tas fam l i as nobres. Hbi tos semel hantes entre os agri cul tores
franceses, combi nados com a prefernci a por fam l i as pequenas, tm
manti do o seu nmero quase estaci onri o.
Por outro l ado, parece no haver condi es mai s favorvei s ao
rpi do desenvol vi mento da popul ao do que as exi stentes nas regi es
agr col as dos novos pa ses. Terra h em abundnci a, estradas de ferro
e vapores carregam a produo da terra e em troca trazem utens l i os
dos ti pos mai s aperfei oados e mui to das comodi dades e l uxos da vi da.
Para o fazendei ro, como na Amri ca chamado o propri etri o rural ,
uma grande fam l i a no , por consegui nte, um fardo, mas uma ajuda.
MARSHALL
243
203 Assi m, numa vi si ta ao val e de Jachenau, nos Al pes Bvaros, cerca de 1880, se encontrava
esse costume em pl eno vi gor. Favoreci dos por uma grande e recente al ta no val or de seus
bosques, expl orados de modo mui to previ dente, os habi tantes vi vem prosperamente em
grandes casas, e seus i rmos e i rms mai s jovens trabal ham como cri ados em seus vel hos
l ares ou noutros l ugares. Pertenci am a uma raa di versa da dos trabal hadores dos val es
vi zi nhos, que l evavam uma vi da pobre e dura, mas que pareci am pensar que os de Jachenau
havi am adqui ri do sua prosperi dade materi al a um preo demasi ado al to.
204 Ver ROGERS. Six Centuries. p. 106-107.
El e e os seus vi vem uma saudvel vi da ao ar l i vre, nada h para
embaraar, mas, ao contrri o, tudo esti mul a o cresci mento da popul a-
o. O aumento natural auxi l i ado pel a i mi grao, e assi m, a despei to
de al gumas cl asses de habi tantes das grandes ci dades da Amri ca re-
cusarem-se, segundo se di z, a ter mui tos fi l hos, a popul ao cresceu
dezessei s vezes nos l ti mos cem anos.
205
OS ECONOMISTAS
244
205 A extrema prudnci a dos propri etri os agr col as em condi es estaci onri as foi notada por
Mal thus; veja-se o que di sse da Su a (Essay. Li vro Segundo. Cap. V). Adam Smi th observou
que as mul heres pobres do norte da Escci a ti nham freqentemente vi nte cri anas, das
quai s apenas duas ati ngi am a maturi dade (Wealth of Nations. Li vro Pri mei ro. Cap. VI I I );
e Doubl eday i nsi sti u sobre a i di a de que a pri vao esti mul a a ferti l i dade (True Law of
Population). Veja-se tambm SADLER. Law of Population. Herbert Spencer pareci a jul gar
provvel que bastari a o progresso da ci vi l i zao para barrar compl etamente o cresci mento
da popul ao. Mas a observao de Mal thus de que a capaci dade procri adora menor
entre as raas brbaras que entre as ci vi l i zadas foi general i zada por Darwi n para todo o
rei no ani mal e o vegetal .
Charl es Booth (Statistical J ournal. 1893) di vi di u Londres em 27 di stri tos (di stri tos pri n-
ci pal mente de regi stro), cl assi fi cando-os na ordem da pobreza, da superpopul ao, da taxa
de nasci mentos e da taxa de bi tos. Veri fi cou el e que as quatro ordens geral mente coi nci dem.
O excesso de nasci mentos sobre bi tos tem seus ndi ces mai s bai xos nos di stri tos mui to
ri cos e nos mui to pobres.
A taxa de nasci mentos na I ngl aterra e Gal es est cai ndo nomi nal mente quase na mesma
proporo tanto na ci dade como no campo. Mas a mi grao cont nua dos jovens, das zonas
rurai s para as reas i ndustri ai s, fez ca rem consi deravel mente os conti ngentes de moas
casadas nos di stri tos rurai s; e, l evando em conta esse fato, veri fi camos que a percentagem
de nasci mentos em rel ao ao nmero de mul heres capazes de gerar mui to mai s al to
nesses di stri tos do que nas ci dades: tal como o segui nte quadro, publ i cado pel o Register-
General, em 1907, revel a:
Mdia Anual de Nascimentos nas reas Urbanas e Rurais
Os movi mentos de popul ao na Frana foram estudados com cui dado excepci onal , e a
grande obra sobre a matri a de Levasseur, La Population Franaise, um mananci al de
i nformaes val i osas sobre outras naes. Montesqui eu, tal vez raci oci nando um tanto a
Em suma, parece provado que a natal i dade geral mente mai s
bai xa entre os abastados do que entre os que fazem provi so mui to
di mi nuta para o seu futuro e de suas fam l i as, vi vendo uma vi da ati va,
e que a fecundi dade reduzi da pel os hbi tos l uxuosos de vi ver. Pro-
vavel mente tambm di mi nu da por excesso de esforo mental ; quer
di zer, dado o vi gor natural dos pai s, sua propenso a ter uma fam l i a
numerosa reduzi da por um grande aumento da fadi ga mental . Na-
tural mente os que real i zam trabal hos i ntel ectuai s superi ores tm, como
cl asse, um vi gor consti tuci onal e nervoso aci ma da mdi a; e Gal ton
mostrou que el es no consti tuem uma cl asse i mprol fi ca. Mas comu-
mente casam tarde.
6. O cresci mento da popul ao na I ngl aterra tem uma hi stri a
mai s cl aramente defi ni da que a do Rei no Uni do, e h al gum i nteresse
em fi xar seus pri nci pai s movi mentos.
As restri es i mpostas ao cresci mento da popul ao durante a
I dade Mdi a foram as mesmas na I ngl aterra que noutros pa ses. Na
I ngl aterra, como al hures, as ordens rel i gi osas eram um refgi o para
aquel es que no podi am casar, e o cel i bato rel i gi oso, conquanto agi ndo
i ndubi tavel mente, em certa medi da, como um entrave autnomo ao
cresci mento da popul ao, deve ser pri nci pal mente tomado mai s como
uma das formas pel as quai s se expri mi am as foras naturai s propensas
l i mi tao, do que como uma nova causa que se ajuntasse a el as. As
mol sti as i nfecci osas e contagi osas endmi cas ou epi dmi cas eram mo-
ti vadas pel os hbi tos anti -hi gi ni cos de vi da ai nda mai s acentuadas
na I ngl aterra que no Sul da Europa. Fome surgi a do fracasso das
col hei tas e das di fi cul dades de comuni cao, embora esse mal fosse
mai s atenuado na I ngl aterra que em outros l ugares.
A vi da do campo, como al hures, era r gi da em seus hbi tos; para
MARSHALL
245
priori, acusou a l ei da pri mogeni tura, vi gente na Frana no seu tempo, como responsvel
pel a reduo do nmero de fi l hos, e Le Pl ay assacava a mesma acusao contra a l ei da
parti l ha obri gatri a. Levasseur (loc. cit., v. I I I , p. 171-177) chama a ateno para o contraste;
e observa que a expectati va de Mal thus quanto aos efei tos do Cdi go Ci vi l sobre a popul ao
estavam mai s de acordo com Montesqui eu do que com o di agnsti co de Le Pl ay. Mas de
fato a taxa de nasci mentos vari a mui to de uma para outra regi o da Frana. geral mente
menor nos l ugares onde a mai ori a dos habi tantes consti tu da de propri etri os de terra
do que onde no o . Se, todavi a, cl assi fi carmos os Departamentos da Frana em grupos
pel a ordem ascendente da propri edade sucessri a (valeurs suecessorales par tte dhabitant),
a taxa de natal i dade correspondente cai quase uni formemente, sendo de 23 por 100 mul heres
casadas entre 15 e 50 anos para os dez Departamentos em que a propri edade herdada
de 48/57 francos; e 13,2 para o Departamento do Sena, onde de 412 francos. E em Pari s
mesmo, as ci rcunscri es habi tadas pel as pessoas abastadas apresentam uma percentagem
menor de fam l i as com mai s de duas cri anas do que os di stri tos mai s pobres. mui to
i nteressante a anl i se cui dadosa que Levasseur nos d da rel ao entre as condi es econmi cas
e a natal i dade, sendo sua concl uso geral que essa rel ao no di reta, mas i ndi reta, pel a
mtua i nfl unci a de ambas sobre os costumes e hbi tos de vi da (moeurs). El e parece sustentar
que, no obstante possa ser o decl ni o da popul ao da Frana, em comparao com o das
naes vi zi nhas, l amentvel do ponto de vi sta pol ti co e mi l i tar, do ponto de vi sta do conforto
materi al e mesmo do progresso soci al o mal associ ado a mui tas vantagens.
os jovens era di f ci l estabel ecerem-se sem que al gum outro casal ti vesse
dei xado a cena, fi cando uma vaga na sua parqui a; poi s raro um tra-
bal hador agr col a, em ci rcunstnci as normai s, pensava em emi grar para
outra parqui a. Conseqentemente, sempre que a peste, a guerra ou
a fome di zi mavam a popul ao, havi a mui ta gente pronta para casar
e preencher os l ugares vagos, e, sendo tal vez mai s jovens e mai s fortes
que a mdi a dos recm-casados, ti nham fam l i as mai s numerosas.
206
Contudo, regi strava-se um certo fl uxo, mesmo de trabal hadores agr -
col as, para os di stri tos que havi am si do mai s casti gados pel a peste,
pel a fome ou pel a guerra. Os artesos sobretudo estavam sempre mai s
ou menos em movi mento, especi al mente no caso dos que trabal havam
em construes, em metai s ou em madei ra, se bem que os anos er-
rantes fossem, sem dvi da, pri nci pal mente os da moci dade, e, trans-
corri dos estes, o vi andante vol tava, provavel mente, a fi xar-se na sua
terra natal . Ademai s, parece ter havi do uma mi grao bastante forte
de parte dos servi ai s da nobreza rural , especi al mente dos grandes
bares que ti nham propri edades em di versas partes do pa s. Por fi m,
a despei to do excl usi vi smo ego sti co que mai s e mai s se desenvol vi a
nos grmi os de of ci os, as ci dades ofereci am na I ngl aterra, como em
outros pa ses, um refgi o para os que no consegui am trabal ho e casas
nos seus l ugares de ori gem. Por todos esses mei os, foi i ntroduzi da al guma
el asti ci dade no si stema r gi do da economi a medi eval , e a popul ao pde
em certa medi da aprovei tar da crescente procura de mo-de-obra, que
vei o aos poucos com o progresso dos conheci mentos, o estabel eci mento do
di rei to e da ordem, e o desenvol vi mento do trfego ocenico.
207
Na l ti ma metade do scul o XVI I e na pri mei ra do scul o XVI I I ,
o Governo Central se empenhou em i mpedi r o ajustamento da oferta
de popul ao nas di versas zonas do pa s sua procura, atravs das
Lei s de Domi c l i o (Settlement Laws), segundo as quai s fi cavam a cargo
de uma parqui a os que resi di ssem nel a durante quarenta di as, mas
OS ECONOMISTAS
246
206 Di z-se assi m que depoi s da Peste Negra de 1349, a mai ori a dos casamentos foi mui to
fecunda (ROGERS. History of Agriculture and Prices. v. I , p. 301).
207 No di spomos de conheci mento seguro sobre a densi dade da popul ao na I ngl aterra antes
do scul o XVI I I . Mas as esti mati vas segui ntes, reproduzi das de Steffen (Geschichte der
englischen Lohn-arbeiter. I , p. 463 et seqs.), so tal vez as mel hores que possu mos. Segundo
o Domesday Book,
*
a popul ao da I ngl aterra em 1086 era de 2 a 2,5 mi l hes. Antes da
Peste Negra (1348), devi a haver entre 3,5 e 4,5 mi l hes; e l ogo depoi s 2,5 mi l hes. Comeou
uma rpi da recuperao, mas o progresso foi l ento entre 1400 e 1550; o aumento foi mai s
vel oz nos cem anos segui ntes, e ati ngi u os 5,5 mi l hes em 1700. A crermos em Harri son
(Description of England. Li vro Segundo. Cap. XVI ), os conti ngentes de homens capazes
para as fi l ei ras em 1574 se el evaram a 1 172 674. A Peste Negra foi a ni ca grande
cal ami dade i ngl esa. A I ngl aterra no estava sujei ta, como o resto da Europa, a guerras
devastadoras, como a dos Tri nta Anos, que destrui u mai s da metade da popul ao da
Al emanha, exi gi ndo mai s um scul o para ser reparada a perda. (Ver Rmel i n, no seu
i nstruti vo arti go sobre Bevl kerungsl ehre. I n: SCHNBERG. Handbuch).
*
Tambm chamado Doomsday Book Livro do J uzo Final uma espci e de Li vro do
Tombo onde eram cadastrados e recenseados os dom ni os e terras da I ngl aterra, estabel eci do
por Gui l herme, o Conqui stador, para fi ns admi ni strati vos, provavel mente fi scai s. (N. dos T.)
determi nou que antes da expi rao desse prazo qual quer um pudesse
ser resti tu do fora ao seu l ugar de ori gem.
208
Os senhores rurai s e
os fazendei ros estavam to ansi osos por i mpedi r que forastei ros se
estabel ecessem em suas parqui as, que opunham grandes di fi cul da-
des construo de casas de campo e, por vezes, as demol i am. Em
conseqnci a, a popul ao agr col a da I ngl aterra estaci onou durante
os cem anos fi ndos em 1760, enquanto as i ndstri as no estavam bas-
tante desenvol vi das para absorver grandes conti ngentes. Esse atraso
no cresci mento da popul ao foi em parte efei to e em parte causa da
el evao do padro de vi da, na qual um el emento marcante foi um
mai or consumo do tri go, em substi tui o a cereai s i nferi ores, na al i -
mentao do povo.
209
A parti r de 1760, os que no podi am se estabel ecer na sua terra
natal passaram a encontrar pouca di fi cul dade para obter emprego nas
novas zonas i ndustri ai s e mi nei ras, onde a procura de mo-de-obra
freqentemente i mpedi a s autori dades l ocai s a apl i cao dos di spo-
si ti vos de portadores da Lei de Domi c l i o. Afl u am os jovens l i vremente
para esses centros, onde a natal i dade se tornou excepci onal mente el e-
vada; mas o mesmo aconteceu com os bi tos; sendo contudo o resul tado
l qui do um cresci mento mui to rpi do da popul ao. No fi m do scul o,
quando Mal thus escreveu, a chamada Lei dos Pobres (Poor Law) tornou
a i nfl ui r na i dade do casamento, mas para torn-l o i mprudentemente
precoce. Os sofri mentos das cl asses trabal hadoras, causados por uma
sri e de penri as e pel a guerra com a Frana, tornavam a assi stnci a
em certa medi da i mpresci nd vel ; e a necessi dade de grandes conti n-
gentes de recrutas para o Exrci to e a Mari nha sugeri a aos coraes
generosos a l i beral i dade nos seus aux l i os s grandes fam l i as, o que
resul tou na prti ca em possi bi l i tar freqentemente ao pai de mui tos
fi l hos vi ver mel hor sem trabal har do que num rude trabal ho se fosse
sol tei ro ou se ti vesse uma pequena prol e. Os que mai s recorreram a
essa cari dade eram natural mente os mai s pregui osos e i ndi gnos, os
de menor amor-prpri o e i ni ci ati va. Assi m, no obstante a tremenda
mortal i dade nas ci dades manufaturei ras, parti cul armente a i nfanti l ,
MARSHALL
247
208 Adam Smi th i ndi gnou-se justamente com i sso. (Ver Wealth of Nations. Li vro Pri mei ro.
Cap. X, p. i i , e Li vro Quarto. Cap. I I ). A l ei consi dera que (14 Charl es I I c. 12, 1662) por
moti vo de defi ci nci as da l ei , nada i mpede aos pobres de i rem de uma parqui a a outra,
e da a procurarem fi xar-se nas parqui as onde os mel hores rebanhos, as mai ores reas
de terras devol utas ou comuns para construi r casas, e mai s l enha para quei mar etc. e,
portanto, ordena-se que di ante de quei xa fei ta... dentro de quarenta di as da vi nda de
qual quer pessoa ou pessoas para se i nstal arem, como foi aci ma di to, em al guma moradi a
de preo i nferi or a dez l i bras anuai s... ser l ci to a quai squer doi s Ju zes de Paz... remover
e recambi ar tal pessoa ou pessoas para a parqui a onde el a ou el as ti nham por l ti mo
seu domi c l i o l egal . Di versas l ei s, vi sando abrandar o seu ri gor, foram promul gadas antes
do tempo de Adam Smi th mas foram i nefi cazes. Em 1795, contudo, foi decretado que
ni ngum podi a ser removi do sem ter fi cado efeti vamente a cargo da parqui a.
209 Al gumas observaes i nteressantes a esse respei to so apresentadas por EDEN. History
of the Poor. I , p. 560-564.
a popul ao aumentava r api damente, mas pouco mel hor ava sua qua-
l i dade, at que foi pr omul gada a Nova Lei dos Pobr es de 1834.
Desde ento, o r pi do cr esci mento da popul ao ur bana, como ve-
r emos no pr xi mo cap tul o, pr opendeu a el evar a mor tal i dade, mas
essa tendnci a foi contr abal anada pel o pr ogr esso da temper ana,
da ci nci a mdi ca, da sani dade e da hi gi ene. Aumentou a emi gr ao,
a i dade do casamento subi u l i gei r amente e a pr opor o no conjunto
da popul ao de pessoas casadas fi cou l i gei r amente menor ; mas,
por outr o l ado, a taxa de natal i dade por casal subi u,
210
r esul tou
num aumento constante da popul ao.
211
O gr ande i mpul so da emi gr ao dur ante os l ti mos anos tor nou
i mpor tante a cor r eo dos dados das tr s l ti mas dcadas, a fi m de
mostr ar o aumento natur al , i sto , o devi do ao excesso de nasci -
mentos sobr e fal eci mentos. A emi gr ao l qui da do Rei no Uni do du-
rante os decni os 1871/81 e 1881/91 foi respecti vamente de 1 480 000
e 1 747 000. Exami nemos o cur so das al ter aes r ecentes um pouco
mai s deti damente.
7. No comeo deste scul o, quando os sal r i os er am bai xos
e o tr i go car o, as cl asses tr abal hador as gastavam no po mai s da
metade de seus r endi mentos. Por consegui nte, um aumento no pr eo
do tr i go r eduzi a mui to os casamentos entr e el as, i sto , o nmer o
de casamentos com pr ocl amas. Mas cr esceu a r enda de mui tos mem-
br os das cl asses abastadas, e por i sso cr esceu entr e estas o nmer o
OS ECONOMISTAS
248
210 Mas esse aumento nas ci fras foi em parte devi do mel hori a no regi stro de nasci mentos.
(FARR. Vital Statistics. p. 97.)
211 O quadro segui nte mostra o cresci mento da popul ao da I ngl aterra e Gal es desde o comeo
do scul o XVI I I . Os dados anteri ores a 1801 foram tomados dos regi stros de nasci mentos,
bi tos, das l i stas el ei torai s e dos l anamentos do i mposto predi al ; os posteri ores a 1801,
do Censo. Deve ser notado que o cresci mento foi to grande nos vi nte anos segui ntes a
1760 como nos sessenta anos precedentes. Os efei tos da Grande Guerra e o al to preo do
tri go se fi zeram senti r no cresci mento l ento entre 1790 e 1801; e os resul tados das penses
i ndi scri mi nadas da Lei dos Pobres, a despei to da si tuao mai s afl i ti va, se apresentaram
no rpi do aumento dos dez anos segui ntes, e no cresci mento ai nda mai or, quando a cri se
passou, na dcada termi nada em 1821. A tercei ra col una mostra a percentagem do aumento
da popul ao em rel ao com a que havi a no i n ci o da dcada.
*
Decrsci mo, mas essas ci fras anti gas no oferecem confi ana.
daquel es matri mni os.
212
Desde que, porm, estes no passavam de
uma pequena parte do total , o resul tado era a queda da taxa de ca-
samentos.
213
Mas, com o correr dos tempos, cai u o preo do tri go e
aumentaram os sal ri os, e ento as cl asses trabal hadoras passaram
a gastar menos de 1/4 das suas rendas, em mdi a, com a al i mentao;
e em conseqnci a as vari aes da prosperi dade comerci al entraram
a exercer uma i nfl unci a preponderante sobre a taxa de nupci al i dade.
214
Desde 1873, embora a renda real mdi a da popul ao da I ngl a-
terra certamente aumentasse, a taxa de cresci mento foi entretanto
bem menor que a dos anos precedentes, e, enquanto i sso, houve uma
cont nua queda de preos e conseqentemente uma queda cont nua
nas rendas em di nhei ro de mui tas cl asses soci ai s. Atual mente, as pes-
soas, ao fazerem seus cl cul os para saber se podem ou no casar-se,
gui am-se mai s pel a renda monetri a que esperam obter do que por
cl cul os l abori osos das mudanas do seu poder aqui si ti vo. E assi m o
n vel de vi da das cl asses trabal hadoras tem se el evado rapi damente,
tal vez mai s do que em outro per odo qual quer da hi stri a i ngl esa: seus
gastos domsti cos em moeda permaneceram quase estaci onri os, e me-
di dos em bens tm aumentado mui to depressa. Enquanto i sso, o preo
do tri go tambm cai u mui to, e uma queda marcante na taxa de casa-
mento para todo o pa s tem freqentemente acompanhado uma queda
acentuada no preo do tri go. A taxa de nupci al i dade hoje esti mada
tendo em vi sta que cada casamento compreende duas pessoas e, por
consegui nte, deve contar-se por doi s. Essa taxa na I ngl aterra cai u de
17,6 por 1 000 em 1873, para 14,2 em 1886. Subi u para 16,5 em 1899;
em 1907 foi de 15,8, mas em 1908 somente de 14,9.
215
MARSHALL
249
212 Ver o 17 Rel atri o Anual de Farr, como Registrar-General, 1854, ou o resumo do mesmo
em Vital Statistics, p. 72-5.
213 Por exempl o, tomando o preo do tri go em xel i m e o nmero de casamentos em mi l hares,
na I ngl aterra e Gal es, temos, para 1801, o tri go a 119, e os casamentos 67; para 1803,
tri go 59, casamentos 94; para 1805, 90 e 80; 1807, 75 e 84; 1812, 126 e 82; 1815, 66 e
100; 1817, 97 e 88; para 1822, 45 e 99.
214 Desde 1820, o preo mdi o do tri go raramente excedeu 60 xel i ns e nunca 75 xel i ns: e as
sucessi vas i nfl aes do comrci o que cul mi naram e termi naram em 1826, 1836/39, 1848,
1856, 1866 e 1873 exerceram sobre os casamentos i nfl unci a aproxi madamente i gual
exerci da pel as al teraes no preo do tri go. Quando as duas causas agi am conjuntamente,
os efei tos eram mui to acentuados: assi m, entre 1829 e 1834, houve uma recuperao da
prosperi dade, acompanhada por uma cont nua queda do preo do tri go, e os casamentos
aumentaram de 104 para 121 mi l . A nupci al i dade aumentou ai nda mai s rapi damente entre
1842 e 1845, quando o preo do tri go foi um pouco mai s bai xo que o dos anos anteri ores,
e os negci os se reani mavam no pa s; e ai nda, em ci rcunstnci as semel hantes, ente 1847
e 1853, e entre 1862 e 1865. Si r Rawson Rawson, no Statistical J ournal, dezembro de
1885, d-nos uma comparao da taxa de casamentos com as col hei tas na Suci a, entre
1749 e 1883. A col hei ta no se revel a seno depoi s que se cel ebraram mui tos dos casamentos
do ano, e al m di sso as desi gual dades das col hei tas so em certa proporo compensadas
pel o armazenamento dos cereai s; pel o que, as ci fras das col hei tas i sol adamente no cor-
respondem de perto s de casamentos. Mas, quando vri as col hei tas boas ou ms se sucedem,
seu efei to no aumento ou decrsci mo da taxa de nupci al i dade se revel a mui to cl aramente.
215 As estat sti cas de exportao fi guram entre as mel hores i ndi caes das vari aes do crdi to
comerci al e da ati vi dade i ndustri al ; e no arti go j referi do, Ogl e mostrou a rel ao exi stente
H mui to o que aprender na hi stri a demogrfi ca da Escci a e
da I rl anda. Nas bai xadas da Escci a, um al to n vel de educao, o
desenvol vi mento dos recursos mi nerai s e o estrei to contato com os mai s
ri cos vi zi nhos i ngl eses se associ aram para permi ti r um grande aumento
da renda mdi a a uma popul ao que cresce rapi damente. Por outro
l ado, o desordenado cresci mento da popul ao na I rl anda, antes da
escassez da batata, de 1847, e sua di mi nui o cont nua depoi s dessa
poca fi caro para sempre como marcos na hi stri a econmi ca.
Comparando os hbi tos de di ferentes naes,
216
veri fi camos que
nos pa ses teutni cos da Europa central e setentri onal , a i dade do
casamento tardi a, parte em vi rtude de serem ocupados os pri mei ros
anos da mai ori dade no servi o das armas. Mas era prematura na Rs-
si a, onde, ao menos sob o regi me anti go, o grupo fami l i ar i nsi sti a para
que o fi l ho trouxesse uma mul her to cedo quanto poss vel para ajudar
nos trabal hos domsti cos, mesmo que el e ti vesse que dei x-l a por uns
tempos para ganhar a vi da noutro l ugar. No Rei no Uni do e na Amri ca
no exi ste servi o mi l i tar obri gatri o e os homens casam cedo. Na
Frana, ao contrri o da opi ni o geral , os casamentos prematuros entre
os homens no so raros, enquanto de parte das mul heres so mai s
comuns do que em outro qual quer pa s de que temos estat sti cas, exceto
os pa ses esl avos, onde el es so dos mai s numerosos.
As taxas de nupci al i dade, de natal i dade e de mortal i dade esto
di mi nui ndo em quase todos os pa ses. Mas a mortal i dade geral grande
onde el evada a taxa de nasci mentos. Por exempl o, ambas so al tas
nos pa ses esl avos, e bai xas no norte da Europa. As taxas de mortal i dade
so bai xas na Austral si a onde o cresci mento natural bastante
el evado, embora a natal i dade seja bai xa e esteja cai ndo mui to rapi da-
mente. Com efei to, a queda nos vri os Estados vari ou de 23 a 30% no
per odo 1881-1901.
217
OS ECONOMISTAS
250
entre a taxa de casamentos e as exportaes per capita. Vejam-se os di agramas no v. I I ,
p. 12, de Levasseur, La Population Franaise; e, no que di z respei to a Massachusetts,
WI LLCOX. Political Science Quarterly. v. VI I I , p. 76-82. As pesqui sas de Ogl e foram am-
pl i adas e corri gi das num estudo l i do por R. H. Hooker, di ante da Manchester Statistical
Society, em janei ro de 1898, mostrando que, se a taxa de nupci al i dade fl utua, a taxa de
nasci mentos, durante a fase ascendente daquel a, deve corresponder no atual taxa de
casamentos, mas do per odo precedente em que a nupci al i dade estava em decl ni o, e
vi ce-versa. Assi m, a taxa de nasci mentos proporci onal mente aos casamentos di mi nui quan-
do a nupci al i dade se el eva, e aumenta quando cai a taxa de casamentos. Uma curva
representando a razo nasci mentos para casamentos se mover i nversamente curva de
npci as. El e sal i enta que o decl ni o na proporo de nasci mentos para casamentos no
grande e se deve ao rpi do decrsci mo dos nasci mentos i l eg ti mos. A rel ao entre os
nasci mentos l eg ti mos e os casamentos no di mi nui de modo sens vel .
216 Os dados segui ntes se basei am pri nci pal mente nas estat sti cas el aboradas pel o fal eci do
Si gnor Bodi o, por M. Levasseur, La Population Franaise, e pel o Registrar-General i ngl s,
em seu Rel atri o de 1907.
217 Nos Statistical Memoranda and Charts relating to Public Health and Social Conditions,
publ i cados pel o Local Government Board, em 1909 (Cd. 4671), h uma grande cpi a de
materi al i nstruti vo e sugesti vo sobre o assunto deste cap tul o.
CAPTULO V
A Sade e o Vigor da Populao
1. Temos a consi derar em segui da as condi es das quai s de-
pendem a sade e o vi gor, f si co, mental e moral . El es so a base da
efi ci nci a i ndustri al , onde assenta a produo da ri queza materi al ,
enquanto, i nversamente, a pri nci pal i mportnci a da ri queza materi al ,
se usada prudentemente, a de aumentar a sade e o vi gor, f si co,
mental e moral da raa humana.
Em mui tas ocupaes, a efi ci nci a produti va requer pouco mai s que
vi gor f si co, i sto , fora muscular, boa consti tui o e hbi tos enrgi cos.
Ao apreci ar a fora muscular, ou mesmo qualquer outra, para fi ns indus-
tri ai s, devemos ter em conta o nmero de horas no di a, o de di as num
ano, e o de anos em que, numa vi da, el a pode ser empregada. Mas, com
essa precauo, podemos medi r o esforo muscul ar de um homem pel o
nmero de ps pel o qual o seu trabal ho l evantari a um peso de l i bra, se
empregado di retamente para esse uso, ou, em outras pal avras, pel o nmero
de ps-l i bras (foot pounds) de trabalho que faz.
218
251
218 Essa medi da pode ser apl i cada di retamente mai ori a dos ti pos de trabal hadores de escavaes
e carregadores e i ndi retamente a mui tos gneros de trabal ho agr col a. Numa controvrsi a que
teve l ugar depoi s do grande lock-out agr col a, sobre a rel ati va efi ci nci a da mo-de-obra no
qual i fi cada no sul e no norte da I ngl aterra, a medi da mai s exata que se encontrou foi o nmero
de tonel adas de materi ai s que um homem carregari a numa carroa em um di a. Outras medi das
susci tadas eram: o nmero de acres col hi dos ou cei fados, ou o nmero de bushels de tri go
col hi do etc., mas estas eram i nsati sfatri as, parti cul armente para comparar condi es agr col as
di versas: uma vez que vari am l argamente os i nstrumentos usados, a natureza da pl antao
e o modo de trabal har. Assi m, quase todas as comparaes entre o trabal ho e os sal ri os da
I dade Mdi a e os modernos, baseadas nos sal ri os para col hei ta ou cei fa etc., so sem val or
at que encontremos mei os para consi derar os efei tos das al teraes nos mtodos agr col as.
Custa, por exemplo, menos trabal ho do que custava, col her mo um roado que d 100 bushels
de tri go, porque os instrumentos usados so mel hores do que eram; mas no custa menos
trabal ho cei far um acre de tri go, pois que as col hei tas so mais produti vas que anti gamente.
Em pases atrasados, parti cul armente onde no h mui to uso de caval os e outros animai s de
trao, uma grande parte do trabal ho de homens e mul heres se pode medir muito bem pelo
esforo muscul ar empregado; mas na I ngl aterra, menos de 1/6 dos trabal hadores da i ndstri a
se ocupa hoje em trabalho dessa natureza, enquanto a fora forneci da pel as mqui nas a vapor
e mai s de vi nte vezes superi or a que poderia ser forneci da pel os msculos de todos os i ngl eses.
Se bem que a capaci dade de sustentar um grande esforo mus-
cul ar parea se basear na consti tui o forte e outras condi es f si cas,
depende entretanto tambm da fora de vontade e do carter. Energi a
dessa espci e, que tal vez possa ser consi derada a fora prpri a do
homem, para di sti ngui r da que vem de seu corpo, moral mai s que
f si ca; mas depende tambm da condi o f si ca da fora nervosa. Essa
fora do homem como tal , essa resol uo, essa energi a e autodom ni o,
em suma esse vi gor e a fonte de todo o progresso: el a se revel a em
grandes fei tos, em grandes pensamentos e na capaci dade de verdadei ro
senti mento rel i gi oso.
219
O vi gor se mani festa de tantas formas que no possi bi l i ta medi da
si mpl es. Mas todos ns conti nuamente esti mamos o vi gor, jul gando
que uma pessoa tem mai s fi bra, mai s estofo, ou que um homem
mai s forte que outro. Homens de negci os, em di versos ramos, e ho-
mens de Uni versi dade, mesmo ocupados em di ferentes especi al i dades,
sabem esti mar reci procamente sua fora com mui ta aproxi mao. Logo
se torna sabi do se preci so menos fora para obter uma boa nota
numa matri a do que noutra.
2. Ao estudar o cresci mento da popul ao di ssemos i nci dente-
mente al go acerca das causas que determi nam a durao da vi da: mas
estas so em geral as mesmas que determi nam a consti tui o forte e
vi gorosa, e ocuparo ai nda nossa ateno neste cap tul o.
A pri mei ra dessas causas o cl i ma. Em pa ses quentes, encon-
tramos casamentos prematuros e al tas taxas de natal i dade, mas em
conseqnci a pouco respei to pel a vi da humana: i sso, provavel mente,
foi a causa de grande parte da al ta mortal i dade geral mente atri bu da
i nsal ubri dade do cl i ma.
220
OS ECONOMISTAS
252
219 El a deve ser di sti ngui da de nervosi smo, que, em regra, denota uma defi ci nci a geral de
fora nervosa, embora por vezes proceda de uma i rri tabi l i dade de nervos ou de fal ta de
equi l bri o. Um homem que tem grande fora nervosa em certos senti dos pode ter pequena
em outros; o temperamento art sti co, em parti cul ar, freqentemente desenvol ve um grupo
de nervos a expensas de outros: mas a fraqueza de al guns destes, e no a fortal eza dos
outros, que l eva ao nervosi smo. Os mai s perfei tos temperamentos art sti cos no parecem
ter si do nervosos: Leonardo da Vi nci e Shakespeare, por exempl o. A expresso fora nervosa
corresponde em certa medi da a Corao na grande di vi so proposta por Engel dos el ementos
da efi ci nci a, em (a) Corpo, (b) Razo, e (c) Corao (Leib, Verstand und Hertz). El e cl assi fi ca
as ati vi dades de acordo com as combi naes a, ab, ac, abc, acb; b, ba, bc, bca; c, ca, cb,
cab, cba: sendo a ordem em cada caso a da i mportnci a rel ati va, omi ti da uma l etra quando
o papel do el emento respecti vo de pequena monta. Na guerra de 1870, os estudantes da
Uni versi dade de Berl i m, que pareci am mai s fracos que o sol dado mdi o, mostraram-se
mui to mai s resi stentes fadi ga.
220 Um cl i ma quente di mi nui o vi gor. El e no total mente hosti l ao al to trabal ho i ntel ectual
e art sti co: mas i mpede o homem de suportar por mui to tempo um esforo mui to pesado,
de qual quer natureza. Esforos mai s rudes podem ser l evados a efei to na metade mai s
fri a da zona temperada, mai s que em qual quer outra parte, e sobretudo em l ugares como
a I ngl aterra e sua ant poda, a Nova Zel ndi a, onde as bri sas mar ti mas mantm uma
temperatura quase uni forme. O cal or do vero e o fri o do i nverno, em mui tas partes da
Europa e da Amri ca, onde a temperatura mdi a moderada, tm o efei to de reduzi r o
O vi gor depende em parte de qual i dades raci ai s: mas estas, tanto
quanto podem ser expl i cadas, parecem ser, a seu turno, devi das pri n-
ci pal mente ao cl i ma.
221
3. O cl i ma desempenha tambm um grande papel na determi -
nao das coi sas necessri as vi da: a pri mei ra del as a al i mentao.
Esta mui to depende da sua preparao adequada: uma hbi l dona de
casa, com 10 xel i ns por semana para comi da, far por vezes mai s pel a
sade e vi gor da fam l i a do que outra i nexperi ente com 20 xel i ns. A
grande mortal i dade de cri anas entre os pobres l argamente devi da
fal ta de cui dado e de ti no no preparo da sua al i mentao; e as que
no morrem dessa carnci a do trato maternal , freqentemente crescem
com uma consti tui o dbi l .
Em todas as pocas, sal vo a atual , a fal ta de comi da tem causado
por vezes a destrui o de popul aes i ntei ras. Mesmo em Londres, nos
scul os XVI I e XVI I I , a mortal i dade foi de 8%, mai or nos anos de
caresti a do tri go do que nos anos de tri go barato.
222
Mas gradual mente
os efei tos de uma crescente ri queza e do desenvol vi mento dos mei os
de comuni cao esto se fazendo senti r em quase todo o mundo; a
severi dade das fomes mi ti gada mesmo em pa ses como a ndi a; e
estas so desconheci das na Europa e no Novo Mundo. Presentemente
na I ngl aterra raro que a fal ta de al i mentao seja causa di reta de
bi to. Mas freqentemente a razo do enfraqueci mento geral de todo
o ser, que assi m fi ca i ncapaz de resi sti r mol sti a. Esta a pri nci pal
causa da i nefi ci nci a no trabal ho.
J vi mos que as coi sas necessri as para a efi ci nci a vari am com
a natureza do trabal ho a ser fei to, mas devemos exami nar agora um
pouco mai s deti damente esse assunto.
No que concerne ao trabal ho muscul ar, em parti cul ar, h uma
rel ao estrei ta entre o supri mento de al i mentos de que uma pessoa
di spe e a sua fora di spon vel . Se o trabal ho i ntermi tente, como o
de certos trabal hadores das docas, basta um regi me barato mas nu-
MARSHALL
253
ano de trabal ho em cerca de doi s meses. Veri fi ca-se que um fri o extremo e cont nuo embota
as energi as, em parte tal vez porque obri ga a gente a passar mui to tempo em abri gos
fechados e estrei tos; os habi tantes das regi es rti cas so geral mente i ncapazes de um
esforo severo e prol ongado. Na I ngl aterra, a opi ni o popul ar i nsi ste em que Natal quente
faz cemi tri o chei o; mas as estat sti cas provam, em contrri o, que o efei to oposto: a
mortal i dade mdi a mai s el evada nas quadras mai s fri as do ano, e mai or nos i nvernos
fri os e nos quentes.
221 A hi stri a das raas um estudo sedutor, mas decepci onante, para o economi sta: poi s as
raas domi nadoras geral mente i ncorporaram as mul heres das venci das; no raro carregavam
mui tos escravos de ambos os sexos nas suas mi graes, e os escravos ti nham menor pos-
si bi l i dade que os homens l i vres de serem mortos nas batal has, ou de fazerem o voto mo-
nsti co. Em conseqnci a, quase todas as raas carregam mui to sangue servi l , que sangue
estrangei ro: e como a quota de sangue escravo era mai or nas cl asses trabal hadoras, uma
hi stri a raci al dos hbi tos de trabal ho parece i nvi vel .
222 I sso foi provado por Farr, que el i mi nou as causas perturbadoras por um processo estat sti co
engenhoso (Vital Statistics. p. 139).
tri ti vo de cereai s. Mas para esforos mui to pesados e conti nuados, tai s
como os do trabal ho do mai s pesado em metal urgi a e em escavao,
necessri a uma al i mentao que possa ser di geri da e assi mi l ada
mesmo quando o corpo est cansado. Esse requi si to ai nda mai s i m-
portante na al i mentao para os trabal hos de grau mai s el evado, com
al ta tenso nervosa, embora a quanti dade exi gi da para estes seja ge-
ral mente pequena.
Depoi s da comi da, as coi sas mai s necessri as vi da e ao trabal ho
so a roupa, a habi tao e o aqueci mento. Quando el es so defi ci entes,
a mente se entorpece, e por fi m a consti tui o f si ca fi ca mi nada. Quando
a roupa mui to escassa, vesti da geral mente noi te e di a e a pel e fi ca
coberta de uma camada de sujei ra. Uma defi ci nci a de habi tao ou
de combust vel fora as pessoas a vi verem numa atmosfera vi ci ada,
noci va sade e ao vi gor. No o menor dos benef ci os que o povo
i ngl s ti ra da barateza do carvo, o hbi to que l he pecul i ar de manter
os quartos mui to bem venti l ados, mesmo no tempo fri o. Casas mal
constru das, com drenagem i mperfei ta, causam mol sti as que, mesmo
nas suas formas mai s suaves, enfraquecem a vi tal i dade de manei ra
espantosa; e promi scui dade l eva a preju zos morai s que di mi nuem o
nmero e rebai xam o carter do povo.
O descanso to essenci al ao desenvol vi mento de uma popul ao
vi gorosa quanto as necessi dades mai s materi ai s, de al i mentao, de
vesturi o etc. O excesso de trabal ho, qual quer que seja a sua forma,
abate a vi tal i dade; enquanto a ansi edade, a i nqui etao e uma excessi va
tenso mental tm uma i nfl unci a fatal no sol apar a consti tui o, no
reduzi r a fecundi dade e di mi nui r o vi gor da raa.
4. A segui r vm trs condi es do vi gor, estrei tamente l i gadas, a
saber: esperana, l i berdade e mutabi l i dade. Toda a hi stri a est chei a de
l embranas de i nefi ci nci a devi da, em graus di versos, escravatura,
servi do, e outras formas de opresso e de represso ci vi s e pol ti cas.
223
Em todas as pocas, as col ni as se mostraram capazes de su-
pl antar as metrpol es em vi gor e energi a. Parte, em conseqnci a da
abundnci a de terra e da barateza de coi sas necessri as ao seu di spor;
parte, devi do sel eo natural dos caracteres mai s ri jos para uma
vi da de aventura, e, parte por moti vos fi si ol gi cos l i gados mi stura
OS ECONOMISTAS
254
223 A l i berdade e a esperana no s aumentam a di sposi o, como tambm a capaci dade de
trabal ho; os fi si ol ogi stas mostram que um esforo dado consome menor energi a nervosa se
el e fei to com prazer e no sob constrangi mento; e sem esperana no h empreendi mento.
A segurana da pessoa e da propri edade so duas condi es dessa esperana e l i berdade;
mas a segurana i mpl i ca sempre restri es l i berdade e consti tui dos mai s di f cei s pro-
bl emas da ci vi l i zao descobri r como obter segurana, que uma condi o da l i berdade,
sem um sacri f ci o mui to grande da prpri a l i berdade. As mudanas de ati vi dade, de mei o
e de rel aes pessoai s renovam as i di as, chamam a ateno para as i mperfei es de vel hos
mtodos, esti mul am o di vi no descontentamento, e de todas as manei ras desenvol vem a
energi a cri adora.
de raas. Mas tal vez a mai s i mportante das causas seja a confi ana,
a l i berdade e a mutabi l i dade de suas vi das.
224
At aqui se tem consi derado l i berdade a no sujei o a l aos
externos. Mas aquel a l i berdade mai s el evada, que nasce do governo
de si mesmo, uma condi o ai nda mai s i mportante para os afazeres
superi ores. A el evao dos i deai s de vi da de que el a depende tem de
um l ado causas pol ti cas e econmi cas, e de outro as de i nfl unci as
pessoai s e rel i gi osas, entre as quai s suprema a i nfl unci a da me
na pri mei ra i nfnci a.
5. A sade e o vi gor f si cos e mentai s so mui to i nfl uenci ados
pel a ocupao.
225
No comeo do scul o XI X as condi es do trabal ho
nas fbri cas eram desnecessari amente mal ss e opressi vas para todos,
especi al mente para as cri anas. Mas as Leis sobre Trabalho nas F-
bricas e Educao (Factory and Education Acts)
226
removeram das f-
MARSHALL
255
224 Pel a conversa com outros que vm de di ferentes l ugares e tm costumes di ferentes, os
vi ajantes aprendem a testar os hbi tos de pensamento e de ao, que de outra forma el es
tenderi am a acei tar como uma l ei da natureza. Al m di sso, uma mudana de l ugar permi te
aos esp ri tos mai s potentes e engenhosos encontrar um i ntei ro aprovei tamento para as
suas energi as, e subi r a posi es i mportantes; enquanto os que fi cam no raro se fecham
mui to em seus l ugares. Poucos homens so profetas em sua prpri a terra; vi zi nhos e
parentes so geral mente os l ti mos a perdoar as fal tas e a reconhecer os mri tos dos
outros que so menos dcei s e mai s empreendedores do que os que os cercam. sem
dvi da por essa razo que em quase toda a parte da I ngl aterra uma parcel a despropor-
ci onal mente grande das mel hores energi as e i ni ci ati vas se regi stram entre os nasci dos em
outros l ugares.
Mas a mudana pode ser l evada a excesso; e quando a popul ao se transfere to rapi da-
mente que um homem est sempre agi tando sem fi rmar sua reputao, el e perde al guns
dos mel hores concursos externos para a formao de um al to carter moral . A esperana
excessi va e o desassossego daquel es que se desgarram para os pa ses novos l evam a mui to
desperd ci o de energi a na mei a aqui si o de preparo tcni co, mei a concl uso de tarefas
que so depressa abandonadas em favor de novas ocupaes.
225 A taxa de mortal i dade bai xa entre os mi ni stros das rel i gi es e os mestres-escol as, as
cl asses agr col as e al gumas outras i ndstri as, como as de segei ros, carpi ntei ros navai s e
mi neradores de carvo. E al ta na mi nerao de chumbo e estanho, na l ami nao e na
cermi ca. Mas nenhum del es, nem qual quer outro of ci o regul ar apresenta uma to al ta
taxa de mortal i dade como a entre o trabal hador comum de Londres e o vendedor ambul ante
de frutas, enquanto a mai s al ta de todas a dos empregados de estal agem. Tai s ocupaes
so di retamente noci vas sade, mas atraem os que so fracos no f si co e no carter e
encorajam hbi tos i rregul ares. Um bom apanhado da i nfl unci a da ocupao sobre a taxa
de bi tos aparece no supl emento ao 45 Rel atri o Anual (1885) do Registrar-General. p.
xxv-l xi i i . Ver tambm FARR. Vital Statistics. p. 392-411; o trabal ho de HUMPHREYS.
Cl ass Mortal i ty Stati sti cs. I n: Statistical J ournal de junho de 1887, e geral mente a l i te-
ratura sobre os Factory Acts.
226 Sri e de l ei s que pretendi am suavi zar, seno el i mi nar, a desabri da expl orao do trabal ho
humano nas fbri cas e mi nas da I ngl aterra que, desde os pri mrdi os da Revol uo I ndustri al
no fi nal do scul o XVI I I , preval eceu ao l ongo do scul o XI X, quando a mqui na era ai nda
escassa e cara rel ati vamente mo-de-obra. Esta a pri nci pal razo de ordem econmi ca
da tenaz resi stnci a dos i ndustri ai s a mel horar as atrozes e mesmo desumanas condi es
de trabal ho em suas fbri cas e mi nas, tai s como a jornada de 12 horas ou mai s por di a,
a que eram submeti das mul heres e cri anas menores de nove anos, ambi entes i nsal ubres,
nenhuma segurana i ndustri al ou assi stnci a mdi ca e soci al .
A pri mei ra dessas l ei s trabal hi stas data de 1802, proi bi ndo o trabal ho de aprendi zes por
mai s de 12 horas consecuti vas. Em 1819 outra l ei proi bi a o emprego de menores de nove
anos. Como os empregadores sempre encontravam mei os de burl ar essas prescri es l egai s,
bri cas os i nconveni entes mai s graves, embora mui tos ai nda subsi stam
em i ndstri as domsti cas e pequenas ofi ci nas.
Os sal ri os mai s al tos, mai or i nstruo e mel hor atendi mento
mdi co de que di spem os habi tantes das ci dades deveri am resul tar
em menor mortal i dade i nfanti l entre el es do que no campo. Mas
geral mente mai or, em parti cul ar nos l ugares onde h mui tas mes
que negl i genci am seus deveres fami l i ares a fi m de ganhar sal ri os.
6. Em quase todos os pa ses h uma constante mi grao para
as ci dades.
227
As grandes ci dades e especi al mente Londres absorvem
a mel hor gente de todo o resto da I ngl aterra: os que tm mai s i ni ci ati va,
os mai s al tamente dotados, os armados de mai or vi gor e mai s forte
carter para l se di ri gem a fi m de dar desti no s suas apti des. Um
nmero crescente dos que so mai s capazes e tm carter mai s vi goroso
vi vem nos subrbi os, onde excel entes si stemas de esgoto, gua e l uz,
OS ECONOMISTAS
256
novas l ei s foram promul gadas em 1820, 1825 e 1830, repeti ndo-se por serem i ncuas. Em
1833, porm, por i ni ci ati va de l orde Shaftesbury, um pol ti co al i s conservador, outra l ei ,
que tomou seu nome, entrou em vi gor, rei terando a proi bi o do emprego de menores de
nove anos; l i mi tando o trabal ho dos que ti vessem nove a treze anos a 9 horas por di a e
os de doze a dezoi to anos, a 12 horas; e, enfi m, di spondo sobre a fi scal i zao do cumpri mento
da l ei , para o que seri am desi gnados Fi scai s de Trabal ho. Essa l egi sl ao teve outros
Atos em 1840, 1842, 1850, 1860, 1874, 1891, 1901, 1920, at nossos di as, mel horando
paul ati namente as condi es de trabal ho, em parti cul ar das mul heres e cri anas, i ncl usi ve
quanto segurana e sal ubri dade das fbri cas e mi nas. (N. dos T.)
227 Davenant (Balance of Trade. 1699, p. 20), segui ndo Gregory Ki ng, prova que, de acordo
com dados ofi ci ai s, Londres tem um excedente de bi tos sobre nasci mentos de 2 mi l por
ano, mas uma i mi grao de 5 mi l , ci fra esta que mai s da metade do que el e cal cul a (por
um mtodo um tanto arri scado) represente o aumento l qui do da popul ao do pa s. El e
apura uma popul ao de 530 mi l em Londres, 870 mi l nas outras ci dades e centros comerci ai s
e 4,1 mi l hes nas vi l as e al dei as. Comparem-se essas ci fras com as do censo de 1901, da
I ngl aterra e Gal es, no qual encontramos Londres com mai s de 4,5 mi l hes; mai s 5 ci dades
com mdi a superi or a 500 mi l ; e 69 outras excedendo 50 mi l , com mdi a aci ma de 100
mi l . E no tudo; poi s mui tos subrbi os cuja popul ao no foi i ncl u da so por vezes, na
verdade, partes das grandes ci dades; e em al guns casos, os subrbi os de vri as ci dades
adjacentes avanam um para o outro, consti tui ndo-se numa ci dade gi gantesca, embora um
tanto espal hada. Um subrbi o de Manchester ti do como uma grande ci dade de 220 mi l
habi tantes; o mesmo acontece com West Ham, subrbi o de Londres, com 275 mi l . Os l i mi tes
de al gumas grandes ci dades se estendem, em i nterval os i rregul ares, para i ncl ui r tai s su-
brbi os e, conseqentemente, a popul ao real de uma grande ci dade pode i r crescendo
excessi vamente, enquanto sua popul ao nomi nal cresce vagarosamente e at retrocede e
ento de repente d um sal to. Assi m, a popul ao nomi nal de Li verpool era de 552 mi l
em 1881, 518 mi l em 1891, 685 mi l em 1901.
Semel hantes al teraes ocorrem noutros pa ses. Assi m a popul ao de Pari s cresceu doze
vezes mai s rpi do durante o scul o XI X do que a da Frana. As ci dades da Al emanha
crescem s expensas do campo, por 0,5% anual mente. Nos Estados Uni dos no havi a em
1800 ci dade com mai s de 75 mi l habi tantes; em 1905, 3 juntas compreendi am mai s de 7
mi l hes, e 11 mai s havi a, com 300 mi l cada. Mai s de 1/3 da popul ao de Vi tri a foi
recenseada em Mel bourne.
Deve-se recordar que, seja para o bem ou para o mal , as caracter sti cas da vi da urbana
aumentam em i ntensi dade a cada aumento de tamanho da ci dade e seus subrbi os. O ar
fresco do campo tem que passar por mui to mai s focos de vapor mal so antes de ati ngi r o
l ondri no do que para chegar ao habi tante comum de uma ci dade pequena. O l ondri no tem
que i r l onge a fi m de al canar a l i berdade e os ares repousantes do campo. Londres, com
4,5 mi l hes de habi tantes, tem uma i nfl unci a mai s de cem vezes superi or, no acentuar
o carter urbano da vi da i ngl esa, do que a de uma ci dade de 45 mi l al mas.
al i ados a boas escol as e di sponi bi l i dades de recrei o ao ar l i vre, oferecem
condi es ao menos to favorvei s ao vi gor como as encontradas no
campo; e embora haja ai nda mui tos di stri tos apenas um pouco menos
nefastos vi tal i dade do que eram geral mente as grandes ci dades at
al gum tempo atrs, o aumento de densi dade da popul ao, de manei ra
geral , no parece consti tui r no presente uma fonte to grande de pe-
ri gos. O recente desenvol vi mento rpi do das faci l i dades de vi da l onge
dos pri nci pai s centros de i ndstri a e comrci o deve, com certeza, ceder
com o tempo. Mas no parece haver si nal de nenhum enfraqueci mento
da tendnci a de as i ndstri as se transportarem para os subrbi os e
mesmo para novas Ci dades Jardi ns a fi m de obter e l evar com el a
operri os vi gorosos.
As mdi as estat sti cas so, decerto, i ndevi damente favorvei s s
condi es urbanas, em parte porque mui tas das i nfl unci as da ci dade
que di mi nuem o vi gor f si co no afetam mui to a mortal i dade, e em
parte porque a mai ori a dos que emi gram para as ci dades est em
pl eno vi gor da moci dade, com energi a e ni mo aci ma da mdi a; en-
quanto os moos cujos pai s moram no i nteri or geral mente vo para
casa quando seri amente doentes.
228
No h mel hor emprego de recursos pbl i cos e pri vados que abri r
parques e campos de jogos pbl i cos nas grandes ci dades, arranjar com
as estradas de ferro o aumento do nmero de trens para trabal hadores,
e ajudar os que se di spem a dei xar as grandes ci dades a faz-l o,
conservando os seus empregos.
229
MARSHALL
257
228 Por moti vos desse gnero, Wel ton (Statistical J ournal. 1897) faz a avanada proposta de
excl u rem-se todas as pessoas entre 15 e 35 anos na comparao das taxas de mortal i dade
entre di ferentes ci dades. A mortal i dade de mul heres em Londres entre as i dades de 15 a
35 anos, por essa razo pri nci pal , anormal mente bai xa. Se, entretanto, uma ci dade tem
uma popul ao estaci onri a, suas estat sti cas vi tai s so mai s faci l mente i nterpretadas; e,
escol hendo Coventry como ci dade t pi ca, Gal ton cal cul ou que, na gente da ci dade, os fi l hos
de i dade adul ta dos art fi ces so um pouco al m de 50% mai s numerosos que os da gente
trabal hadora nos di stri tos rurai s sal ubres. Quando um l ugar est em decadnci a, os moos
fortes e bem-di spostos se afastam, dei xando os vel hos e i nvl i dos para trs, e depoi s a
taxa de nasci mento geral mente bai xa. Por outro l ado, um centro de i ndstri a que est
atrai ndo popul ao poder ter uma taxa el evada de nasci mento, porque a sua percentagem
de gente em pl eno vi gor de vi da mai or. este especi al mente o caso das ci dades carvoei ras
e si derrgi cas, em parte porque el as no se ressentem, como os centros txtei s, da fal ta
de homens; e em parte porque os mi nei ros, como cl asse, casam cedo. Em al gumas del as,
embora a taxa de mortal i dade seja al ta, o excesso de nasci mento sobre os bi tos superi or
a 20 por 1 000 habi tantes. A mortal i dade geral mente mai s al ta em ci dades de segunda
ordem, pri nci pal mente porque os seus servi os sani tri os no so ai nda to bons como os
das ci dades mai ores.
O prof. Haycraft (Darwinism and Race Progress) sustenta o contrri o. El e atri bui grande
i mportnci a aos mal es que advi ro raa humana da di mi nui o de certas doenas, como
a tubercul ose e a escroful ose, que atacam pri nci pal mente pessoas de fraca consti tui o, e
assi m exercem uma i nfl unci a sel eti va na raa, a no ser que tal seja acompanhado de
progressos correspondentes em outros senti dos. Mas a tubercul ose no mata todas as suas
v ti mas; exi sti ri a, certamente, al guma vantagem na di mi nui o de seus efei tos debi l i tantes.
229 Ver o arti go do autor Where to House the London Poor . I n: Contemporany Review.
Fev. 1884.
7. Exi stem, todavi a, outras causas de ansi edade, porquanto
parece haver-se deti do parci al mente aquel a i nfl unci a sel eti va da l uta
e da competi o, que nos pri mei ros tempos da ci vi l i zao determi nou
que os mai s fortes e mai s vi gorosos dei xassem a mai or progni e; fato
ao qual , mai s do que a qual quer outra causa i sol ada, se deve o progresso
da raa humana. Nas etapas posteri ores da ci vi l i zao, a regra que
preval eceu foi , na verdade, a de casarem tarde as pessoas das cl asses
superi ores, e em conseqnci a terem menos fi l hos que as das cl asses
operri as; mas i sso foi compensado pel o fato de que entre as cl asses
trabal hadoras a vel ha regra foi manti da: e o vi gor da nao que tende
a enfraquecer nas cl asses el evadas assi m renovado pel o afl uxo de
foras vi vas que constantemente surgem de bai xo. Mas, na Frana, de
h mui to e recentemente na Amri ca e na I ngl aterra, os mai s capazes
e i ntel i gentes el ementos das cl asses operri as no se mostram i ncl i -
nados a ter fam l i as, o que uma fonte de peri go.
230
Exi stem, poi s, razes cada vez mai s fortes para temer que, en-
quanto o progresso da medi ci na e da hi gi ene sal va da morte um nmero
conti nuamente crescente de cri anas que so fracas f si ca e mental -
mente, mui tos dos mai s i ntel i gentes e mel hor dotados de energi a, i ni -
ci ati va e autogoverno tendem a adi ar o casamento, ou de outra forma
a l i mi tar o nmero de fi l hos que dei xaro. O moti vo mui ta vez ego s-
ti co, e tal vez fosse mel hor que as pessoas rudes e fr vol as dei xassem
menos descendentes semel hantes a el as. Mai s freqentemente, porm,
o desejo de assegurar uma boa posi o soci al para seus fi l hos. Nesse
desejo h mui tos el ementos que no al canam os mai s al tos i deai s
entre os des gni os humanos, e em al guns casos so dos mai s bai xos;
mas, em suma, el e tem si do um dos pri nci pai s fatores do progresso,
e entre os que o puseram prova se i ncl uem mui tos daquel es cujos
fi l hos poderi am provavel mente fi gurar entre os mel hores e mai s fortes
exempl ares da raa.
Deve ser l embrado que os membros de uma grande fam l i a edu-
cam-se uns aos outros e so comumente mai s cordi ai s e i ntel i gentes,
no raro por todas as formas mai s vi gorosos que os membros de uma
pequena fam l i a. Parte, sem dvi da, porque seus pai s so de vi gor
i ncomum. E por i gual razo el es, por seu turno, esto aptos a ter
fam l i as mai ores e mai s vi gorosas. O progresso da raa devi do em
mui to mai or extenso do que parece pri mei ra vi sta aos descendentes
de poucas fam l i as excepci onal mente grandes e vi gorosas.
OS ECONOMISTAS
258
230 Nos Estados do Sul dos Estados Uni dos, o trabal ho manual se tornou avi l tante para os
brancos; assi m, se no podi a ter escravos, l evava o branco uma vi da mi servel e degenerada,
e raro casava. Da mesma sorte, na costa do Pac fi co, houve em certa ocasi o justos moti vos
para temer que todos os trabal hos, com exceo dos al tamente especi al i zados, vi essem a
cai r nas mos dos chi neses; e que o homem branco passasse a vi ver uma vi da arti fi ci al
na qual uma fam l i a se torna uma grande despesa. Nesse caso, os chi neses tomari am o
l ugar dos ameri canos, e a qual i dade mdi a da raa humana teri a deca do.
De outro l ado, porm, no h dvi da de que os pai s podem, fre-
qentemente, cui dar mel hor sob vri os pontos de vi sta de uma pequena
fam l i a que de uma grande. Em i gual dade de ci rcunstnci as, um au-
mento no nmero de fi l hos causa um aumento da mortal i dade i nfanti l ;
e este um mal i nquesti onvel , pel a fal ta de cui dado e de mei os ade-
quados, representa um sofri mento para a me e um preju zo para o
resto da fam l i a.
231
8. H outras consi deraes que devem ser ti das em conta; mas,
no que se refere aos pontos tratados neste cap tul o, parece recomendvel
que as pessoas no deveri am trazer fi l hos ao mundo antes de poderem
dar-l hes ao menos to boa educao f si ca e mental como a que tenham
recebi do; e que prefer vel casar-se rel ati vamente jovem, desde que
se tenha autocontrol e sufi ci ente para manter a fam l i a nos devi dos
l i mi tes, sem transgredi r as l ei s morai s. A adoo geral dessas normas
de agi r, al i ada a uma sufi ci ente provi so de ar fresco e de di straes
sal utares para as nossas popul aes das ci dades, o que pode mai s
prontamente desenvol ver a fora e o vi gor da raa. E, em segui da,
encontraremos razes para acredi tar que, se progredi rem a fora e o
vi gor da raa, o aumento do nmero por mui to tempo no causar
uma di mi nui o da renda real mdi a do povo.
Assi m poi s o progresso dos conheci mentos e em parti cul ar da
ci nci a mdi ca, a crescente ati vi dade e sabedori a dos governos em todos
os assuntos referentes sade e o aumento da ri queza materi al , tudo
tende a reduzi r a mortal i dade e a aumentar a sade, a fora e a pro-
l ongar a vi da. Por outro l ado, a vi tal i dade cai e a taxa de bi tos aumenta
pel o rpi do cresci mento da vi da urbana, e pel as tendnci as nas al tas
camadas da popul ao de casar-se tarde e de ter menos fi l hos do que
as camadas i nferi ores. Se o pri mei ro grupo de causas agi sse i sol ada-
mente, mas regul ado de sorte a afastar o mal da superpopul ao, seri a
provvel que o homem prontamente ati ngi sse uma excel ente si tuao
f si ca e mental , superi or a qual quer outra que o mundo j ti vesse
conheci do; enquanto, se as l ti mas no fossem contrabal anadas na
sua ao, el e rapi damente degenerari a.
Na si tuao presente, os doi s grupos de foras se mantm reci -
MARSHALL
259
231 A ampl i tude da mortal i dade i nfanti l , que decorre de causas evi tvei s, pode ser aval i ada
pel o fato de a percentagem de bi tos antes de um ano de i dade em rel ao aos nasci mentos
ser geral mente nos di stri tos urbanos cerca de 1/3 da dos di stri tos rurai s; e em mui tos
di stri tos urbanos que tm uma popul ao abastada, mai s bai xa do que a mdi a de todo
o pa s (Registrar-General. Rel atri o 1905. p. xl i i -xl v). H poucos anos se veri fi cou que,
enquanto a mortal i dade anual de cri anas at 5 anos era de 2% nas fam l i as do patri ci ado,
e menos de 3% para o conjunto das cl asses superi ores, era entre 6 e 7% para toda a
I ngl aterra. Por outro l ado, o prof. Leroy Beaul i eu di z que na Frana os pai s que no tm
seno um ou doi s fi l hos so i ncl i nados a mi m-l os, cerc-l os de excessi vos cui dados, em
detri mento do seu desembarao, da sua i ni ci ati va e da sua fi bra. (Ver Statistical J ournal.
v. 54. p. 378-379.)
procamente em equi l bri o, preponderando o pri mei ro l i gei ramente. En-
quanto a popul ao da I ngl aterra cresce aproxi madamente tanto como
sempre, os sem sade de corpo e de esp ri to no consti tuem uma parte
crescente do todo: os restantes so mui to mai s bem al i mentados e
vesti dos, e, exceto em di stri tos i ndustri ai s super-habi tados, geral mente
se esto cri ando fortes. A durao mdi a da vi da tanto para homens
como para mul heres vem aumentando j de mui tos anos para c.
OS ECONOMISTAS
260
CAPTULO VI
A Aprendizagem Industrial
1. Depoi s de termos estudado as causas que governam o cres-
ci mento de uma popul ao em nmero e vi gor, temos agora que con-
si derar a aprendi zagem necessri a para que aumente a sua efi ci nci a
i ndustri al .
O vi gor natural que capaci ta um homem a obter grande sucesso
em determi nado empreendi mento servi r-l he-i a para o xi to em qual quer
outro cometi mento. Mas h excees. Al gumas pessoas, por exempl o,
parecem desti nadas desde o nasci mento a uma carrei ra art sti ca, e
no a outra, e s vezes encontra-se um homem dotado de grande esp ri to
prti co, mas absol utamente desti tu do de sensi bi l i dade art sti ca. No
entanto, um povo que possua uma grande fora nervosa parece geral -
mente ser capaz de, em ci rcunstnci as favorvei s e no decurso de poucas
geraes, desenvol ver apti des de qual quer espci e por que tenha, es-
peci al mente, al to apreo. Um povo que possua qual i dades, adqui ri das
na guerra ou nas formas mai s rudes da i ndstri a, adqui re por vezes,
com grande rapi dez, apti des i ntel ectuai s e art sti cas de ordem el evada.
E quase todos os movi mentos l i terri os e art sti cos das pocas cl ssi ca
e medi eval foram devi dos a povos de grande fora nervosa, que foram
postos em contato com pensamentos nobres antes de haverem adqui ri do
o gosto pel os confortos e l uxos arti fi ci ai s.
O desenvol vi mento desse gosto em nossa prpri a poca nos tem
i mpedi do de aprovei tar compl etamente as oportuni dades que nossos
recursos crescentes nos oferecem, de consagrar a fi nal i dades el evadas
a mai or parte das mai s el evadas habi l i dades do povo. Tal vez o vi gor
i ntel ectual da nossa poca parea menor do que na real i dade devi do
ao adi antamento das conqui stas ci ent fi cas. Na arte e na l i teratura
comum que um homem al cance a gl ri a quando seu gni o ai nda possui
a aparnci a fasci nante da moci dade; mas na ci nci a moderna, para
que se al cance al guma ori gi nal i dade, preci so possui r conheci mentos
to vastos, que antes que um estudi oso possa i mpri mi r sua marca no
261
mundo o seu esp r i to j per deu, fr eqentemente, a pr i mei r a fl or es-
cnci a da juventude. Al m di sso, o ver dadei r o val or da sua obr a
no fi ca evi dente para o povo como o de um quadr o ou de um poe-
ma.
232
Do mesmo modo, as sl i das qual i dades do oper r i o moder no
que oper a uma mqui na so menos cotadas que as do ar teso me-
di eval . I sso moti vado, em par te, pel o nosso hbi to de consi der ar
banai s as qual i dades comuns em nossa poca, esquecendo-nos do
fato de que a expr esso tr abal ho no-especi al i zado est constan-
temente mudando de senti do.
2. Os povos que se encontram num estgi o de ci vi l i zao mui to
pri mi ti vo no so capazes de trabal har durante mui to tempo numa
coi sa s, e mesmo a forma mai s si mpl es do que consi deramos trabal ho
no-qual i fi cado consti tui , para el es, um trabal ho qual i fi cado. No pos-
suem a necessri a assi dui dade, que s pode ser adqui ri da atravs de
um l ongo curso de trei namento. Mas, mesmo onde a educao uni -
versal , pode-se cl assi fi car uma ocupao de no-especi al i zada, ai nda
que exi ja conheci mentos de l ei tura e escri ta. Da mesma forma, em
regi es onde h fbri cas estabel eci das h mui to tempo, passa a ser
propri edade comum a todos o hbi to da responsabi l i dade, do cui dado
e rapi dez em l i dar com mqui nas e materi ai s caros. Nesse caso, a
mai or parte do trabal ho dedi cado ao control e das mqui nas consi -
derado total mente mecni co e no-especi al i zado, no dependente de
nenhuma facul dade humana di gna de apreo. Na verdade, porm,
provvel que nem um dci mo da popul ao atual do mundo possua as
facul dades mentai s e morai s, a i ntel i gnci a e o dom ni o sobre si mesmo
que essa tarefa exi ge. Tal vez mesmo a metade da popul ao do mundo
s chegasse a ser capaz de real i zar bem essa tarefa, depoi s de um
trei no constante, durante duas geraes. Mesmo na popul ao de uma
ci dade i ndustri al , s uma pequena parte capaz de executar mui tas
das tarefas que, pri mei ra vi sta, parecem ser total mente roti nei ras.
A tecel agem mecni ca, por exempl o, si mpl es como possa parecer, di -
vi de-se em graus fi nos e ordi nri os, e a mai ori a dos que trabal ham
nos ti pos mai s si mpl es no tm a apti do para tecer com fi os de
OS ECONOMISTAS
262
232 A esse respei to val e a pena observar que, mui tas vezes, a i mportnci a de uma i di a que
marca poca no percebi da pel a gerao na qual el a foi expressa. Os pensamentos do
mundo se encami nham numa nova di reo, mas essa mudana de di reo no se torna
evi dente at que a encruzi l hada tenha fi cado para trs. Da mesma manei ra, as i nvenes
mecni cas de qual quer poca so freqentemente consi deradas i nferi ores em rel ao s de
pocas precedentes. I sso porque uma nova descoberta raramente se torna de uma efi ci nci a
total para apl i caes prti cas, at que pequenos progressos e descobertas subsi di ri as se
tenham agrupado ao seu redor; uma i nveno que marca poca data geral mente de uma
gerao antes da poca que marcou. assi m que cada gerao parece ocupar-se pri nci pal -
mente em desenvol ver as i di as da gerao precedente, enquanto a i mportnci a total das
suas prpri as i di as no fi ca cl aramente evi denci ada.
di versas cores. As di ferenas so mai ores ai nda em i ndstri as que
l i dam com materi al pesado, madei ra, metal ou cermi ca.
Al guns ti pos de trabal ho manual exi gem uma l onga prti ca em
uma ni ca sri e de operaes, mas esses casos no so mui to comuns,
e cada vez se tornam mai s raros, porque os maqui ni smos esto se
encarregando constantemente do trabal ho que exi ge habi l i dade manual
dessa espci e. certo que um dom ni o geral sobre o uso dos prpri os
dedos consti tui um el emento i mportante de efi ci nci a i ndustri al , mas
i sso o resul tado pri nci pal mente da fora nervosa e de control e sobre
si mesma, que se desenvol vem pel a prti ca, mas em sua mai or parte
tem um carter geral , no se tratando de al go desti nado a uma ocupao
especi al . Da mesma manei ra que um jogador de cr quete aprende com
faci l i dade a jogar tni s, um operri o especi al i zado pode, freqentemen-
te, mudar de of ci o sem grande perda de efi ci nci a.
A habi l i dade manual , especi al i zada a ponto de no poder ser
transferi da de uma ocupao para outra, est-se tornando um fator
de produo de i mportnci a cada vez menor. Pondo de l ado, por en-
quanto, as facul dades de percepo e de cri ao art sti cas, podemos
di zer que o que faz com que uma determi nada ocupao seja de ordem
mai s el evada do que outra, o que faz com que os operri os de uma
ci dade ou de uma regi o sejam mai s efi ci entes do que os de outra,
pri nci pal mente a superi ori dade na sagaci dade e energi a de ordem geral ,
que no so espec fi cas de nenhuma ocupao.
As qual i dades que fazem um grande povo i ndustri al so a capa-
ci dade de ter em mente mui ta coi sa ao mesmo tempo, cada coi sa pronta
a seu tempo, agi r rapi damente e saber resol ver as di fi cul dades que se
possam apresentar, de se acomodar faci l mente com qual quer mudana
nos detal hes do trabal ho executado, de ser constante e di gno de con-
fi ana, de ter sempre uma reserva de foras para serem uti l i zadas em
caso de emergnci a. Essas qual i dades no so excl usi vas de uma de-
termi nada ocupao, mas so requeri das em todas, e se nem sempre
podem ser transferi das com faci l i dade de uma tarefa para outra da
mesma espci e, o pri nci pal moti vo que el as preci sam ser compl etadas
pel o conheci mento do materi al com que se vai l i dar e pel a fami l i ari dade
com os mtodos especi ai s.
Podemos ento empregar a expresso habi l i dade geral para de-
si gnar as facul dades, os conheci mentos de ordem geral e a i ntel i gnci a
que so, em di versos graus, propri edade comum de todos os graus
el evados da i ndstri a; enquanto a destreza manual e o conheci mento
de materi ai s especi ai s e dos processos necessri os a determi nados fi ns,
podem ser cl assi fi cados como habi l i dade especi al i zada.
3. A habi l i dade geral depende, em grande parte, do ambi ente
da i nfnci a e da juventude. Ni sso a pri mei ra e mai s poderosa i nfl unci a
MARSHALL
263
a da me.
233
Segue-se a i nfl unci a do pai , a de outras cri anas e,
em al guns casos, a dos empregados domsti cos.
234
Com o correr dos
anos, os fi l hos dos operri os aprendem mui to, vendo e ouvi ndo o que
se passa ao seu redor; e quando exami namos quai s as vantagens que
os fi l hos dos ri cos tm, ao comear a vi da, sobre os dos operri os es-
peci al i zados, e as dos fi l hos destes sobre os dos operri os no-especi a-
l i zados, preci samos consi derar essas i nfl unci as domsti cas mai s de-
tal hadamente. Mas agora podemos passar a consi derar as i nfl unci as
mai s gerai s da educao escol ar.
Pouco h a di zer sobre a educao geral , embora sua i nfl uncia,
at mesmo sobre a efi ci nci a i ndustri al , seja mui to mai or do que parece
pri mei ra vi sta. verdade que os fi l hos de operri os freqentemente
preci sam dei xar a escol a quando mal aprenderam os el ementos da l ei tura,
da escri ta, da ari tmti ca e do desenho, e por vezes argumenta-se que a
parte do pouco tempo gasto nessas matri as seri a mel hor empregada em
trabal ho prti co. Os progressos fei tos na escol a so i mportantes, no tanto
por el es mesmos, mas pel a possi bi l i dade de futuro avano, poi s uma edu-
cao geral , verdadei ramente l i beral , embora no se ocupe com os detal hes
das di versas profi sses, dei xando essa tarefa para o ensi no tcni co, habi tua
o esp ri to a uti l i zar suas mel hores facul dades nos negci os e a usar dos
negci os como um mei o para mel horar a cul tura.
235
OS ECONOMISTAS
264
233 De acordo com Gal ton, a afi rmao de que todos os grandes homens ti veram mes i ntel i -
gentes vai l onge demai s: mas i sso prova apenas que a i nfl unci a da me no sobrepuja
todas as outras, no que no seja mai or que qual quer uma del as. El e di z que a i nfl unci a
materna mai s fci l de ser traada entre tel ogos e ci enti stas, porque uma me compe-
netrada faz com que seu fi l ho si nta profundamente as grandes coi sas. A me zel osa no
repri me, antes encoraja, aquel a curi osi dade i nfanti l que a matri a-pri ma dos hbi tos
ci ent fi cos do esp ri to.
234 Entre os empregados domsti cos h mui tos que so excel entes pessoas. Mas aquel es que
vi vem em casas mui to ri cas tm uma tendnci a a adqui ri r hbi tos de autocompl acnci a,
a dar i mportnci a demasi ada ri queza e, em geral , a pr os fi ns mai s bai xos da vi da
aci ma dos mai s nobres, de um modo que no comum entre trabal hadores i ndependentes.
A companhi a na qual os fi l hos de nossas mel hores fam l i as passam a mai or parte de seu
tempo val e mui to menos do que a que se encontra na casa de camponeses mdi os. No
entanto, nessas mesmas fam l i as no se permi ti ri a que um cri ado que no ti vesse recebi do
i nstruo especi al se dedi casse a cui dar de um co de raa ou de um caval o.
235 A ausnci a de uma boa i nstruo geral para as cri anas das cl asses operri as tem si do
apenas menos prejudi ci al ao progresso i ndustri al do que o restri to al cance da educao
mi ni strada pel as anti gas escol as secundri as das cl asses mdi as. El a era de fato, at re-
centemente, a ni ca pel a qual um professor comum podi a i nduzi r seus al unos a uti l i zar
suas mentes em al go mai s el evado que no fosse a si mpl es absoro de conheci mentos.
Por i sso mesmo era chamada educao l i beral , por ser a mel hor que podi a ser obti da. Mas
fal hou no seu propsi to de fami l i ari zar o ci dado com as grandes i di as da Anti gui dade;
os conheci mentos que mi ni strava eram geral mente esqueci dos assi m que se abandonava
a escol a, e susci tou um antagoni smo prejudi ci al entre o mundo dos negci os e o da cul tura.
Agora, no entanto, o progresso dos conheci mentos nos permi te uti l i zar a ci nci a e a arte
como compl ementos do curriculum gi nasi al , e dar a todos quantos se achem em condi es
uma educao que l hes desenvol ve as mel hores facul dades, e faz com que di ri jam a i nte-
l i gnci a para pensamentos que esti mul aro ai nda mai s as ati vi dades mai s el evadas de seu
esp ri to. O tempo que se gasta em aprender a sol etrar quase desperdi ado: se a ortografi a
e a pronnci a se harmoni zassem na l ngua i ngl esa, como acontece em outras, haveri a um
acrsci mo de um ano na efi ci nci a da educao escol ar, sem i mpl i car nenhum custo adi ci onal .
4. O ensi no tcni co el evou mui to o n vel de seus fi ns nestes
l ti mos anos. Anti gamente el e se l i mi tava a ensi nar aquel a destreza
manual e aquel es conheci mentos el ementares de mqui nas e procedi -
mentos que um rapaz i ntel i gente aprende rapi damente por si mesmo,
assi m que comea a trabal har, embora seja verdade que, se j possui
esses conheci mentos el ementares, poder ganhar desde o i n ci o al guns
xel i ns a mai s do que ganhari a se fosse total mente i gnorante. Mas essa
chamada educao, porm, no desenvol ve as facul dades i ndi vi duai s;
antes, pel o contrri o, i mpede o seu desenvol vi mento. Um rapaz que
tenha adqui ri do esses conheci mentos por si prpri o educou-se ao faz-l o,
e ter mai s probabi l i dade de progredi r no futuro do que um rapaz que
estudou em uma escol a desse gnero anti quado. A educao tcni ca,
no entanto, est superando seus erros, e procura, em pri mei ro l ugar,
desenvol ver uma apti do geral no emprego de ol hos e dedos (embora
haja si nai s que i ndi quem que esse trabal ho est fi cando a cargo da
i nstruo geral , qual , na real i dade, pertence); em segundo l ugar,
dotar de habi l i dade e conheci mento art sti cos, bem como de mtodos
de pesqui sa que so tei s em determi nadas ocupaes, mas que
raramente se adqui rem no trabal ho prti co. No entanto, preci so que
nos l embremos de que todo progresso na preci so e versati l i dade das
mqui nas automti cas di mi nui o campo do trabal ho manual , em que
o control e das mos e da vi so to val ori zado; e tambm de que
aquel as facul dades que so trei nadas numa educao geral da mel hor
espci e vem sua i mportnci a crescer cada vez mai s.
236
Na opi ni o das autori dades i ngl esas na matri a, a educao tc-
ni ca vi sando os estgi os mai s el evados da i ndstri a deveri a ter como
fi nal i dade desenvol ver as facul dades de um modo quase to constante
como o faz a educao geral . Deveri a assentar sobre as mesmas bases
de uma ri gorosa educao geral e proporci onar, ademai s, conheci mentos
detal hados especi ai s em benef ci o das di versas profi sses.
237
Nossa meta
deveri a ser somar o trei no ci ent fi co em que os pa ses da Europa
oci dental se adi antaram a ns a essa corajosa e i nfati gvel energi a,
e aos i nsti ntos prti cos que raramente fl orescem, a menos que os me-
l hores anos da juventude tenham si do passados na ofi ci na. E preci so
l embrar sempre que tudo quanto um jovem aprende por si , por expe-
MARSHALL
265
236 Como di sse Nasmyth: se um rapaz, tendo dei xado cai r na mesa, ao azar, duas ervi l has,
pode pr entre el as uma tercei ra de modo a formar uma l i nha reta, esse jovem est em
cami nho de se tornar um bom mecni co. O control e sobre os ol hos e as mos se adqui re
com os jogos habi tuai s na I ngl aterra, bem como nas bri ncadei ras do jardi m da i nfnci a.
O desenho sempre esteve nos l i mi tes entre o trabal ho e o jogo.
237 Um dos pontos mai s fracos do ensi no tcni co o de no procurar educar o senso de propores
e o desejo de si mpl i ci dade nos detal hes. Os i ngl eses, e os norte-ameri canos, ai nda mai s
que el es, adqui ri ram na vi da dos negci os a habi l i dade de rejei tar os maqui ni smos e pro-
cessos compl i cados, por no val erem o que custam, e esta espci e de i nsti nto prti co per-
mi te-l hes ter xi to na concorrnci a com seus ri vai s do conti nente europeu, embora estes
possuam uma educao mui to mel hor.
ri nci a prpri a, em ofi ci nas bem di ri gi das, tem para el e mai or val or,
e consti tui um mai or est mul o sua ati vi dade mental , do que se ti vesse
si do ensi nado numa escol a tcni ca, por um professor, e atravs de
model os de i nstrumentos.
238
O anti go si stema de aprendi zado no se adapta s condi es da
vi da moderna e cai u em desuso; mas preci so encontrar um substi tuto
para el e. Nos l ti mos anos, os i ndustri ai s mai s capazes l anaram a
moda de fazer seus fi l hos trabal har sucessi vamente em todas as etapas
do trabal ho da fbri ca que mai s tarde vi ro a di ri gi r mas somente
uns poucos i ndi v duos podem ter essa espl ndi da educao. So tantas
e to vari adas as rami fi caes de uma grande i ndstri a moderna que
seri a i mposs vel para os patres fazer, como costumavam, com que os
jovens entregues aos seus cui dados aprendessem todas essas coi sas.
A verdade que um rapaz, de capaci dade mental comum, sai ri a confuso
de uma tentati va dessas. Mas no parece i mprati cvel fazer ressurgi r,
sob nova forma, o si stema de aprendi zado.
239
As grandes i nvenes i ndustri ai s que marcaram poca provi -
nham, at h pouco, quase excl usi vamente da I ngl aterra. Mas agora
outras naes esto comeando a l he fazer concorrnci a. A qual i dade
excepci onal das escol as pbl i cas dos Estados Uni dos, a vari edade dos
OS ECONOMISTAS
266
238 Um bom si stema o de passar os sei s meses de i nverno, durante vri os anos depoi s de
dei xar a escol a, num curso superi or ou Uni versi dade, estudando ci nci a, e os sei s meses
de vero como aprendi z contratado, em grandes ofi ci nas. O autor i ntroduzi u esse si stema,
h cerca de quarenta anos, no Col gi o Uni versi tri o de Bri stol (agora Uni versi dade de
Bri stol ). El e apresenta, porm, di fi cul dades prti cas que s podem ser venci das por um
entendi mento cordi al e generoso entre os chefes das grandes ofi ci nas e os di retores dos
col gi os. Outro pl ano excel ente o adotado na escol a anexa fbri ca dos srs. Mather &
Pl att, em Manchester. Fazem-se na escol a desenhos das obras que esto sendo executadas
na ofi ci na. Um di a o professor d os cl cul os e as expl i caes necessri as, e no outro di a
os al unos vem, com seus prpri os ol hos, a prpri a coi sa que estudaram na vspera.
239 O patro se obri ga a fazer com que o aprendi z aprenda compl etamente todas as subdi vi ses
de uma grande di vi so da sua i ndstri a, em l ugar de fazer com que el e aprenda apenas
uma dessas di vi ses, como acontece freqentemente na atual i dade. A educao do aprendi z
seri a ento to ampl a como se ti vesse aprendi do tudo rel ati vo i ndstri a, tal como exi sti a
al gumas geraes atrs, e essa aprendi zagem podi a ser compl ementada com um conheci -
mento teri co de todos os ramos da profi sso, a ser adqui ri do na escol a tcni ca. Al go
semel hante ao anti go si stema de aprendi zado entrou em moda recentemente entre jovens
i ngl eses que desejam aprender agri cul tura nas condi es pecul i ares de um pa s novo; e h
si nai s que demonstram que o pl ano pode estender-se agri cul tura naci onal . Mas mesmo
assi m, h um grande nmero de conheci mentos necessri os ao agri cul tor e ao trabal hador
agr col a que podem ser mi ni strados, com mai or efi ci nci a, em escol as de agronomi a e de
l ati c ni os.
Enquanto i sso, esto se desenvol vendo rapi damente mui tos mei os de educao tcni ca para
adul tos, como as exposi es pbl i cas, as associ aes e publ i caes tcni cas, os congressos
etc. Cada um tem seu trabal ho a executar. Na agri cul tura e em outras profi sses, as
exi bi es pbl i cas consti tuem o mai or aux l i o ao progresso. Mas as i ndstri as que esto
mai s adi antadas, e que se encontram nas mos de pessoas de hbi tos de estudo, devem
seu progresso di fuso de conheci mentos teri cos e prti cos, fei ta em publ i caes da pro-
fi sso. Estas, auxi l i adas pel as modi fi caes nos mtodos da i ndstri a, e tambm nas con-
di es soci ai s, vm revel ando segredos profi ssi onai s, e auxi l i ando os i ndi v duos dotados de
poucos recursos a competi r com seus ri vai s mai s ri cos.
gneros de vi da l exi stentes, o i ntercmbi o de i di as entre as di ferentes
raas e as condi es especi ai s da sua agri cul tura fi zeram com que se
desenvol vesse um esp ri to de pesqui sa i nfati gvel , enquanto o ensi no
tcni co est sendo agora mi ni strado com especi al vi gor. Por outro l ado,
a di fuso de conheci mentos ci ent fi cos entre as cl asses mdi as, e mesmo
entre as cl asses trabal hadoras da Al emanha, combi nada com o conhe-
ci mento que possuem das l nguas modernas e com o seu hbi to de
vi ajar para i nstrui r-se, habi l i tou-as a se pr em p de i gual dade com
os mecni cos i ngl eses e ameri canos, e a tomar a di antei ra em mui tas
das apl i caes i ndustri ai s da qu mi ca.
240
5. verdade que h mui tos ti pos de trabal ho que podem ser
real i zados com efi ci nci a tanto por um operri o sem i nstruo como
por um educado; e que os ramos mai s el evados da educao somente
so de uti l i dade di reta para os patres, contramestres, e um nmero
l i mi tado de operri os. Mas uma boa educao proporci ona grandes be-
nef ci os i ndi retos, i ncl usi ve ao trabal hador comum. Serve para esti mu-
l ar sua ati vi dade mental , para manter o hbi to de uma curi osi dade
ci ent fi ca, para torn-l o mai s i ntel i gente, mai s capaz e mai s di gno de
confi ana no trabal ho comum, para aumentar o teor de vi da em horas
de trabal ho e nas de l azer, sendo, assi m, um mei o i mportante de pro-
duzi r ri queza materi al ; ao mesmo tempo que, consi derada um fi m em
si , no tem nada de i nferi or em rel ao a qual quer dos fi ns a que a
produo de ri quezas materi ai s pode servi r.
No entanto, em outra di reo que preci samos procurar uma
parte, tal vez mesmo a mai or, dos benef ci os econmi cos i medi atos que
a nao pode obter de uma mel hori a da educao geral e tcni ca da
massa da popul ao. Preci samos ol har no tanto os que fi guram nas
fi l ei ras das cl asses trabal hadoras, mas aquel es que se el evam, de um
nasci mento humi l de, s categori as mai s el evadas dos operri os espe-
ci al i zados, tornando-se contramestres e patres, ampl i ando os dom ni os
da ci nci a, e tal vez mesmo aumentando a ri queza naci onal na arte e
na l i teratura.
As l ei s que governam o nasci mento de um gni o so i nescrutvei s.
provvel que a percentagem dos fi l hos de operri os dotados de apti -
des naturai s de uma ordem superi or no seja to grande como a dos
fi l hos de pessoas que ati ngi ram ou herdaram uma posi o soci al el e-
vada. Mas, como as cl asses operri as so quatro ou ci nco vezes mai s
numerosas do que as outras tomadas em conjunto, no i mposs vel
que mai s da metade dos gni os que nasam num pa s pertena a essa
MARSHALL
267
240 Os di ri gentes de quase todas as fi rmas progressi stas do conti nente estudaram cui dadosa-
mente os mtodos e os maqui ni smos dos pa ses estrangei ros. Os i ngl eses so grandes
vi ajantes, mas, tal vez devi do sua i gnornci a de l nguas estrangei ras, no tenham dado
a devi da i mportnci a educao tcni ca que poss vel obter por mei o de vi agens.
cl asse: e del es, a mai or parte no se desenvol ve por fal ta de oportu-
ni dade. No h extravagnci a mai s prejudi ci al ao cresci mento da ri -
queza de uma nao do que esse desperd ci o, que faz com que se percam,
num trabal ho i nferi or, os homens de tal ento nasci dos de pai s pobres.
Nenhuma mudana seri a mai s conducente a um rpi do aumento da
ri queza naci onal como uma mel hori a das escol as, especi al mente dos
gi nsi os, desde que essa mel hori a vi esse combi nada com um si stema
extensi vo de bol sas de estudo que habi l i tassem os fi l hos mai s i ntel i -
gentes de um trabal hador a subi r gradual mente de uma a outra escol a,
at que ti vessem adqui ri do a mel hor educao teri ca e prti ca que a
sua poca fosse capaz de oferecer.
Grande parte da prosperi dade das ci dades l i vres da I dade Mdi a,
e da Escci a na poca atual , devi da s apti des dos fi l hos das cl asses
trabal hadoras. Mesmo dentro da prpri a I ngl aterra, h uma l i o desse
ti po que preci sa ser aprendi da: o progresso mai s rpi do o das regi es
do pa s em que a mai or proporo de i ndustri ai s consti tu da por
fi l hos de operri os. Por exempl o, o i n ci o da era da manufatura en-
controu as di sti nes mai s cl aramente del i mi tadas e mai s fi rmemente
estabel eci das no sul da I ngl aterra do que no norte. No sul , uma espci e
de esp ri to de casta i mpedi a os trabal hadores e os fi l hos dos trabal ha-
dores de chegar aos postos de mando, e as fam l i as que l se acham
estabel eci das h mui to tempo se ressentem de uma fal ta de el asti ci dade
e dessa l uci dez de esp ri to que nenhuma supremaci a soci al pode dar,
e que s provm de dons naturai s. Esse esp ri to de casta e essa fal ta
de sangue novo entre os di ri gentes da i ndstri a so doi s fatores que
se compl ementaram, e no so poucas as ci dades do sul da I ngl aterra
cuja decadnci a no mui to remota pode-se atri bui r em grande parte
a essa causa.
6. A educao art sti ca est num n vel di ferente do da educao
do pensamento, poi s enquanto esta quase sempre fortal ece o carter, no
raro que a pri mei ra dei xe de faz-l o. No entanto, o desenvol vi mento
das facul dades art sti cas do povo , em si , um fi m da mai s el evada i m-
portnci a, e est se tornando um fator essenci al da efi ci nci a i ndustri al .
Aqui nos referi mos quase excl usi vamente aos ramos da arte que
atraem vi sta, poi s embora a l i teratura e a msi ca contri buam tanto,
ou mai s, para aumentar a pl eni tude da vi da, o seu desenvol vi mento no
afeta, no entanto, di retamente os mtodos dos negci os, os processos de
manufatura e a habilidade dos artesos, nem depende, tampouco, del es.
Tal vez se tenha atri bu do aos artesos europeus da I dade Mdi a,
e aos dos pa ses ori entai s de nossa poca, mai s ori gi nal i dade do que
real mente ti veram. Os tapetes ori entai s, por exempl o, esto chei os de
bel as concepes, mas se tomarmos uma determi nada regi o e exami -
narmos um grande nmero de seus produtos art sti cos, escol hi dos tal vez
dentre vri os scul os, encontramos pouca vari edade em suas i di as
OS ECONOMISTAS
268
bsi cas. Porm, em nossa poca de mudanas rpi das, al gumas por causa
da moda e outras devi das aos resul tados do progresso i ndustri al e soci al ,
todos se sentem em l i berdade para empreender uma nova rota, e todos
preci sam contar sobretudo com os seus prpri os recursos. No exi ste um
ju zo cr ti co do pbl i co sol i damente amadureci do para gui -l o.
241
Essa, porm, no a ni ca, nem mesmo a pri nci pal desvantagem
que, em nossa poca, afeta os que trabal ham em desenhos art sti cos.
No h moti vo para acredi tar que os fi l hos dos operri os comuns da
I dade Mdi a ti vessem mai or ori gi nal i dade art sti ca do que os fi l hos
dos carpi ntei ros e ferrei ros de uma al dei a de hoje, mas se entre dez
mi l i ndi v duos acontecesse surgi r um dotado de gni o, este abri a ca-
mi nho em seu trabal ho e a concorrnci a entre as corporaes servi r-
l he-i a de est mul o. Mas o art fi ce moderno provavel mente est ocupado
na operao de maqui nri o, e, embora as facul dades que el e uti l i za
tal vez sejam mai s sl i das, e acabem por consti tui r um i mpul so mai or
no senti do de um desenvol vi mento mai s el evado da raa humana do
que aconteci a com o gosto e a fantasi a do seu precursor medi eval , a
verdade que el es no contri buem di retamente para o progresso da
arte. E se achar-se mui to mai s capaci tado que seus companhei ros,
provavel mente tentar assumi r um papel preponderante na di reo
de um si ndi cato, ou de outra associ ao qual quer, ou ento procurar
reuni r um pequeno capi tal que l he permi ta abandonar a profi sso para
a qual foi educado. Esses no so fi ns i ndi gnos, mas a ambi o tal vez
fosse mai s nobre, e mai s ti l para o mundo, se esse homem permane-
cesse em sua anti ga profi sso, tentando cri ar obras cuja bel eza sobre-
vi vesse ao seu cri ador.
No entanto, preci so admi ti r que el e teri a grande di fi cul dade
para faz-l o. A rapi dez com que surgem modi fi caes nas artes deco-
rati vas consti tui um mal quase to grande quanto a extenso do mer-
cado mundi al por onde essas i novaes vo se di fundi r, poi s essa a
causa de uma grande perda de tempo e de esforos por parte do arti sta
ao obri g-l o a estudar constantemente o movi mento mundi al da oferta
e procura dos produtos art sti cos. Trata-se de uma tarefa qual o
arteso, que trabal ha com suas prpri as mos, no est bem adaptado;
MARSHALL
269
241 De fato, todo arti sta numa poca pri mi ti va gui a-se pel o precedente: s os mai s audazes
afastam-se dessa regra e mesmo el es no se afastam mui to, e suas i novaes esto sujei tas
prova da experi nci a que, afi nal , i nfal vel . As mai s i nformes e ri d cul as modas l i terri as
e art sti cas podem, durante al gum tempo, ser acei tas pel o povo, ante a i nsti gao dos que
l he so superi ores na escal a soci al . Mas somente uma verdadei ra superi ori dade art sti ca
pode fazer com que uma bal ada ou uma mel odi a, o esti l o de uma roupa ou a forma de um
mvel , conservem sua popul ari dade durante vri as geraes. Tambm as i novaes i ncom-
pat vei s com o verdadei ro esp ri to da arte acabam por ser supri mi das, conservando-se
aquel as que se acham no cami nho verdadei ro, e que passam a ser o ponto de parti da para
novos progressos. assi m que os i nsti ntos tradi ci onai s representaram um grande papel
na conservao da pureza das artes i ndustri ai s nos pa ses ori entai s e, em menor escal a,
na Europa Medi eval .
e por i sso que o art fi ce moderno prefere segui r cami nhos j traados,
em lugar de procurar novas sendas. At mesmo a extrema habi l i dade dos
tecel es de Lyon se l i mi ta hoje quase excl usi vamente a uma apti do her-
dada para confeco del i cada e fi na percepo de cor, o que l hes permi te
executar com perfei o as i di as dos desenhi stas profi ssi onai s.
Uma ri queza crescente permi te hoje s pessoas comprarem coi sas
de todas as espci es conforme sua fantasi a mas sem se preocuparem
com sua durabi l i dade, de modo que, em rel ao s roupas e aos mvei s,
a afi rmao de que o model o que faz a venda torna-se cada di a mai s
verdadei ra. A i nfl unci a do fal eci do Wi l l i am Morri s
242
e de outros, com-
bi nada com a i nspi rao que mui tos desenhi stas i ngl eses foram buscar
nos mestres ori entai s do col ori do, especi al mente persas e i ndi anos, fez
com que certas cl asses de teci dos e produtos decorati vos i ngl eses te-
nham al canado o pri mei ro posto, como reconheci do pel os prpri os
franceses. Em outras di rees, porm, a Frana tem a supremaci a, e
di z-se que al guns fabri cantes i ngl eses, que gozam de reputao mun-
di al , teri am de abandonar o mercado se preci sassem depender dos
padres i ngl eses. I sso se deve em parte ao fato de que, sendo Pari s o
rbi tro da moda, como resul tado de um gosto suti l adqui ri do em rel ao
ao vesturi o femi ni no, um desenho pari si ense est sempre em harmoni a
com a prxi ma moda, e se vende mel hor do que um desenho, do mesmo
val or i ntr nseco, fei to em outro pa s qual quer.
243
A educao tcni ca, portanto, embora no possa contri bui r di re-
tamente para o conti ngente de gni os na arte, como no o pode fazer
na ci nci a ou no campo dos negci os, pode, no entanto, fazer com que
OS ECONOMISTAS
270
242 Wi l l i am Morri s (1834-1896), mi l i tante soci al i sta e precursor do Movi mento Moderno na
arqui tetura e no desenho i ndustri al , atravs de seu i nfl uente Arts and Grafts (Artes e
Of ci os). Medi eval i sta, era antes um homem da Renascena pel o seu tal ento e ati vi dade
mul ti formes: poeta, escri tor, pi ntor, arteso, decorador e, especi al mente, i novador na arte
e tcni ca do design. Reagi ndo produo em massa da Revol uo I ndustri al e ao mau
gosto da era vi tori ana, procurou cri ar a bel eza da prati cabi l i dade em objetos e utens l i os
de toda sorte, pri nci pal mente domsti cos. Reformador soci al , suas i di as soci al i stas so
consi deradas romnti cas, embora acei tasse a concepo de Marx sobre a l uta de cl asses.
Sua vi da e obra fazem parte da hi stri a da Arte e Poltica. Sobre a sua contri bui o como
designer, o l ei tor i nteressado poder consul tar, em portugus, doi s l i vros de Ni kol aus Pevner:
Os Pioneiros do Desenho Moderno e Origens da Arquitetura Moderna e do Design. (N. dos T.)
243 Os desenhi stas franceses consi deram vantajoso morar em Pari s. Se permanecerem, durante
mui to tempo, fora de contato com os movi mentos da moda, acabam por fi car para trs.
Mui tos del es foram educados como arti stas, mas fal haram em sua ambi o mai s al ta. E
s em casos excepci onai s, como, por exempl o, no caso da porcel ana de Svres, que arti stas
famosos acham que val e a pena desenhar. Os desenhi stas i ngl eses consegui ram fi rmar-se
no mercado ori ental e h provas de que tm, pel o menos, o mesmo grau de ori gi nal i dade
que os franceses, embora no consi gam ver, com tanta rapi dez, a manei ra de grupar formas
e cores a fi m de obter um resul tado de grande efei to. (Ver Report on Technical Education.
v. I , p. 256, 261, 324, 325, e v. I I I , p. 151, 152, 202, 203, 211 et passim.) provvel que
a profi sso de desenhi sta no tenha dado tudo de quanto capaz. Com efei to, el a tem
sofri do de uma manei ra preponderante a i nfl unci a de uma ni ca nao, e trata-se de uma
nao cujas obras, nos mai s al tos setores art sti cos, di fi ci l mente podi am ser transpl antadas.
El as podem ter si do apl audi das e i mi tadas durante al gum tempo, por outras naes, mas,
at o presente, raramente servi ram de i nspi rao a obras de val or em outras geraes.
grande parte do gni o art sti co cri ado pel a natureza no seja posto a
perder. E el a preci sa prestar esse servi o, pri nci pal mente porque
i mposs vel fazer renascer, em grande escal a, a i nstruo dada pel as
anti gas corporaes profi ssi onai s.
244
7. Podemos concl ui r, portanto, que no se podem medi r as
vantagens de consagrar fundos pbl i cos e parti cul ares para a educao
do povo apenas pel os seus frutos di retos. At mesmo como uma apl i -
cao de capi tal , vantajoso dar s massas mai ores oportuni dades do
que as que possuem atual mente, poi s s por esse mei o que todos
aquel es que morreri am desconheci dos tero o i mpul so necessri o para
fazer brotar suas apti des l atentes. E o val or econmi co de um ni co
gni o i ndustri al sufi ci ente para cobri r as despesas da educao de
toda uma ci dade, poi s uma ni ca i di a, como por exempl o o grande
i nvento de Bessemer,
245
aumenta tanto a capaci dade produti va da I n-
gl aterra como o trabal ho de cem mi l homens. Menos di reto, porm de
i gual i mportnci a, o aux l i o prestado produo pel as descobertas
mdi cas, como as de Jenner ou de Pasteur, que aumentam a sade e
a capaci dade de trabal ho, e mesmo pel os trabal hos de ci nci a pura,
como os dos matemti cos e dos bi ol ogi stas, embora passem mui tas
geraes antes que esses trabal hos apresentem uma i nfl unci a vi s vel
sobre o aumento do bem-estar materi al . Todas as despesas fei tas, du-
rante mui tos anos, para dar s massas uma oportuni dade de se i ns-
tru rem mel hor, fi cari am perfei tamente compensadas se fi zessem surgi r
um novo Newton, um Darwi n, um Shakespeare ou um Beethoven.
Poucos probl emas prti cos i nteressam mai s di retamente ao eco-
nomi sta do que os que se referem aos pri nc pi os segundo os quai s
deveri am ser di vi di das entre o Estado e os pai s as despesas da educao
das cri anas. Mas agora temos que consi derar as condi es que deter-
mi nam a capaci dade e o desejo dos pai s de pagar sua parte dessa
despesa, qual quer que seja el a.
A mai ori a dos pai s est di sposta a fazer por seus fi l hos o que
os seus pai s fi zeram por el es, e tal vez mesmo a fazer mai s, se por
acaso vi vem entre pessoas que tm um n vel de vi da superi or ao seu.
MARSHALL
271
244 Os museus nos mostram que na I dade Mdi a, e mesmo mai s tarde, a arte atra a uma
parte mui to mai or da i ntel i gnci a superi or do que acontece agora. Na nossa poca, a ambi o
da juventude fi ca tentada pel a exci tao da vi da comerci al . Seu gosto pel as obras i mpere-
c vei s sati sfaz-se com as descobertas da ci nci a moderna, e, enfi m, uma grande quanti dade
de tal ento afasta-se pouco a pouco de obras el evadas devi do ao di nhei ro que poss vel
ganhar rapi damente, escrevendo para os peri di cos arti gos mal pensados.
245 O Autor refere-se, provavel mente, ao processo Bessemer de produo de ao por mei o de
conversor, apl i cado pel a pri mei ra vez no ai nda reputado centro metal rgi co de Sheffi el d,
no norte da I ngl aterra, e que se tornou de uso uni versal , uma das mui tas i nvenes do
engenhei ro i ngl s Sir Henry Bessemer (1813-1898). (N. dos T.)
Mas i r al m di sso exi ge, ao l ado de qual i dades morai s de desprendi -
mento e de uma afei o paternal que tal vez no seja rara, um certo
hbi to mental que ai nda no encontrado com freqnci a. Exi ge que
se tenha uma percepo cl ara do futuro, que se consi dere um aconte-
ci mento futuro como tendo a mesma i mportnci a que um aconteci mento
i medi ato (descontando o futuro e uma taxa de juros bai xa). Tai s hbi tos
so ao mesmo tempo um resul tado e uma causa da ci vi l i zao, e ra-
ramente se desenvol vem total mente, a no ser entre as cl asses mdi a
e al ta das naes mai s cul tas.
8. Os pai s geral mente educam os fi l hos para profi sses do mesmo
n vel que as suas e, por consegui nte, a oferta total de trabal ho de uma
determi nada categori a numa certa gerao determi nada, em grande
parte, pel o nmero de pessoas que fazi am parte das profi sses dessa
categori a na gerao precedente, embora haja grande mobi l i dade dentro
da categori a profi ssi onal . Se as vantagens de determi nada profi sso
avul tam sobre a mdi a, h, em sua di reo, um rpi do afl uxo de jovens
de outras profi sses do mesmo n vel . O movi mento verti cal de uma
categori a para outra raramente rpi do, e raramente se veri fi ca em
grande escal a, mas quando as vantagens, que as profi sses de uma
determi nada categori a oferecem, aumentam em rel ao ao trabal ho
que exi ge, comeam a se di ri gi r a el a pequenas correntes de trabal ha-
dores, tanto jovens como adul tos. Embora essas correntes no sejam
abundantes, tomadas em conjunto tero vol ume sufi ci ente para sati s-
fazerem, antes de mui to tempo, o aumento da procura que surgi ra
naquel a categori a.
Preci samos dei xar para mai s tarde o estudo detal hado dos obs-
tcul os que as condi es de tempo e l ugar i mpem mobi l i dade do
trabal ho, e tambm a manei ra pel a qual agem sobre os i ndi v duos a
fi m de obri g-l os a mudar de profi sso, ou a educar seus fi l hos numa
profi sso di ferente da sua. Mas vi mos o bastante para poder concl ui r
que, no vari ando as ci rcunstnci as, um aumento nos sal ri os com
que o trabal ho remunerado aumenta a proporo do cresci mento da
mo-de-obra; ou, em outras pal avras, um aumento no preo de procura
aumenta a oferta. Dado o estado do conheci mento e dos costumes ti cos,
soci ai s e domsti cos de um povo, ento o vi gor do mesmo como col e-
ti vi dade, se no o seu nmero, e tanto o nmero quanto o vi gor dos
que se dedi cam a qual quer of ci o em parti cul ar, tm um preo de oferta,
no senti do de que exi ste um certo n vel de preo de procura que manter
estaci onri o o nmero e o vi gor dessa profi sso; e que um preo mai s
el evado os fari a aumentar, e um mai s bai xo, di mi nui r. Assi m, poi s, as
causas econmi cas exercem uma i nfl unci a no cresci mento da popul ao
em conjunto, bem como sobre a oferta de mo-de-obra em qual quer
OS ECONOMISTAS
272
profi sso determi nada. Mas a i nfl unci a dessas causas sobre o nmero
da popul ao como um todo sobretudo i ndi reta e se exerce por mei o
dos hbi tos de vi da ti cos, soci ai s e domsti cos, j que estes hbi tos
so i nfl uenci ados por causas econmi cas de um modo profundo, ai nda
que l ento, e de formas que so s vezes di f cei s de reconhecer e i m-
poss vei s de prever.
246
MARSHALL
273
246 Mi l l se i mpressi onou tanto com as di fi cul dades que um pai tem de enfrentar para educar
um fi l ho numa ocupao compl etamente di ferente da sua, que di sse (Principles. I I , XI V,
2): At agora a l i nha de demarcao que separa as di ferentes cl asses de trabal hadores
tem si do to evi dente e a separao to compl eta, que el a quase equi val e a um si stema
heredi tri o de castas, sendo os que i ngressam em cada profi sso recrutados sobretudo
entre os fi l hos dos que as exercem, ou entre os fi l hos dos que, nasci dos em cl asses i nferi ores,
consegui ram, graas a seus esforos, el evar seu n vel soci al . As profi sses l i berai s so
supri das sobretudo pel os fi l hos dos que as exercem ou pel os fi l hos das cl asses oci osas. As
profi sses manuai s mai s qual i fi cadas recrutam entre os fi l hos de artesos qual i fi cados, ou
na cl asse dos comerci antes que ocupam o mesmo n vel soci al . Ocorre o mesmo com profi sses
qual i fi cadas, de ordem i nferi or; quanto aos operri os no qual i fi cados, estes conti nuam,
com poucas excees, a segui r, de pai s a fi l hos, a mesma profi sso. por i sso que os
sal ri os de cada uma dessas cl asses foram, at pouco tempo, regul ados pel o aumento da
popul ao de cada cl asse, e no pel o aumento da popul ao de todo pa s. Mas acrescenta:
No entanto, as mudanas que agora ocorrem to rapi damente nos costumes e i di as esto
sol apando todas essas di sti nes. Sua previ so foi confi rmada pel as transformaes ocor-
ri das desde aquel a poca. As grandes l i nhas di vi sri as por el e assi nal adas foram quase
apagadas pel a rpi da ao das causas que, como vi mos no i n ci o deste cap tul o, esto
reduzi ndo a soma de habi l i dades e apti des requeri das em al gumas ocupaes e aumen-
tando-a em outras. No mai s podemos consi derar as di ferentes profi sses como di stri bu das
em quatro categori as superpostas, mas tal vez possamos represent-l as como equi val entes
a uma l onga sri e de degraus, de l argura vari vel , al guns dos quai s seri am sufi ci entemente
ampl os para exercer o papel de patamares. Ou, mel hor ai nda, podemos i magi nar doi s
l ances de escadas, um representando as i ndstri as de di f ci l mani pul ao, e outro, as
i ndstri as de fci l mani pul ao, uma vez que a di vi so verti cal entre esses doi s grupos
to grande e to pronunci ada como a di vi so hori zontal entre duas categori as quai squer.
A cl assi fi cao de Mi l l j perdera grande parte de seu val or quando Cai rnes adotou-a
(Leading Principles. p. 72). Uma cl assi fi cao mel hor adaptada s nossas condi es atuai s
foi i ndi cada por Gi ddi ngs (Political Science Quarterly. v. I I , p. 79-81). Pode-se objetar que
el a traa l i nhas de demarcao onde a natureza no traou l i mi te al gum, mas trata-se de
uma di vi so da i ndstri a em quatro cl asses, to boa quanto poss vel . Essa di vi so a
segui nte:
1. Trabal ho manual automti co, que i ncl ui os trabal hadores comuns, e os que cui dam da
manuteno de mqui nas.
2. Trabal ho manual responsvel , compreendendo os que tm sob sua responsabi l i dade al gum
trabal ho e os que gozam de autonomi a de ao.
3. Trabal ho mental automti co, como guarda-l i vros etc.
4. Trabal ho mental responsvel , que i ncl ui superi ntendentes e di retores.
As condi es e mtodos do grande e i ncessante movi mento da popul ao, ascendente e
descendente, de uma categori a profi ssi onal para outra, sero estudados adi ante, de forma
mai s ampl a (Li vro Sexto. Cap. I V, V e VI I ). A crescente procura de rapazes para mensagei ros
e outros trabal hos que no tm nenhum val or educati vo aumentou o peri go de os pai s
col ocarem seus fi l hos em si tuaes sem nenhuma perspecti va de bom emprego no futuro.
Al go est sendo fei to pel os poderes pbl i cos e mai s ai nda pel a dedi cao e energi a de
homens e mul heres em associ aes no-ofi ci ai s, no senti do de al ertar sobre essas ocupaes
sem sa da e de ajudar os moos a prepararem-se para trabal hos especi al i zados. Esses
esforos podem ser mui to val i osos para a nao. Mas deve-se ter cui dado para que essa
ori entao e ajuda sejam acess vei s tanto s camadas mai s bai xas das cl asses trabal hadoras
como s mai s al tas, quando as necessi tem, para que a raa no degenere.
CAPTULO VII
O Crescimento da Riqueza
1. Neste cap tul o desnecessri o di sti ngui r os pontos de vi sta
segundo os quai s a ri queza consi derada objeto de consumo ou fator
de produo: nel e s nos ocupamos do cresci mento da ri queza e no
temos que i nsi sti r em seu emprego como capi tal .
As formas mai s pri mi ti vas de ri queza foram provavel mente os
i nstrumentos para caa e pesca, os adornos pessoai s, e, em regi es
fri as, roupas e cabanas.
247
Durante esse per odo, comeou a domesti -
cao dos ani mai s, porm, de i n ci o, el es provavel mente eram cri ados
sobretudo por prazer, porque eram boni tos, e era agradvel t-l os; assi m
como os arti gos de ornamento pessoal , eram desejados por causa da
sati sfao i medi ata auferi da da sua posse, mai s do que como provi so
para necessi dades futuras.
248
Aos poucos, os rebanhos de ani mai s do-
mesti cados aumentaram, e durante a etapa do pastorei o el es eram a
um tempo o prazer e o orgul ho dos seus donos, os embl emas ostensi vos
de posi o soci al , e acentuadamente a forma mai s i mportante de ri queza
acumul ada como provi so para necessi dades futuras.
medi da que a popul ao foi se adensando e as pessoas se fi -
xaram na agri cul tura, a terra cul ti vada tomou o pri mei ro l ugar no
i nventri o da ri queza; e a parte do val or da terra devi da a benfei tori as
(entre as quai s os poos ocupam um l ugar consp cuo) se tornou o pri n-
ci pal el emento do capi tal , no mai s estri to senti do do termo. Segui ram
275
247 Um breve mas sugesti vo estudo sobre o cresci mento da ri queza em suas formas pri mi ti vas,
e das artes da vi da, apresentado na Antropology de Tyl or.
248 Bagehot (Economic Studies, pp. 163-165), depoi s de ci tar os fatos por Gal ton sobre a cri ao
de ani mai s de esti mao pel as tri bos sel vagens, assi nal a que aqui encontramos um exempl o
de que, por mai s i mprevi dente que seja um povo sel vagem, el e no dei xa de fazer al guma
provi so. Um arco ou uma rede de pesca, que preste bom servi o na obteno de al i mento
para hoje, deve servi r durante mui tos di as vi ndouros; um caval o ou uma canoa, que trans-
porte al gum hoje, deve ser uma fonte bem provi da de prazeres futuros. O menos previ dente
dos dspotas brbaros pode erguer um bl oco maci o de construes porque este a prova
mai s pal pvel da sua presente ri queza e poder.
em i mportnci a as casas, os ani mai s domsti cos e, em al guns l ugares,
barcos e navi os; mas os utens l i os de produo, seja para uso na agri -
cul tura, seja em manufaturas domsti cas, permaneceram por mui to
tempo de pequeno val or. Em certos l ugares, contudo, pedras e metai s
preci osos, em suas vri as formas, cedo se converteram em objetos de-
sejvei s e um mei o reconheci do de entesourar ri queza; enquanto i sso,
no fal ando dos pal ci os dos monarcas, grande parte da ri queza soci al ,
em mui tas ci vi l i zaes rel ati vamente rudi mentares, toma a forma de
edi f ci os para fi ns pbl i cos, pri nci pal mente rel i gi osos, de estradas e
pontes de canai s e obras de i rri gao.
Por al guns mi l hares de anos, essas conti nuaram sendo as pri n-
ci pai s formas de ri queza acumul ada. Nas ci dades, com efei to, as casas
e seu mobi l i ri o ocupavam o pri mei ro l ugar, junto com as quanti dades
armazenadas das matri as-pri mas mai s caras: mas, embora os habi -
tantes das ci dades possu ssem ri queza mai or per capita que os do cam-
po, seu nmero total era pequeno e sua ri queza total era mui to menor
que a do campo. Durante todo esse tempo, o ni co mi ster que empregava
custoso aparel hamento era o do transporte de mercadori as por gua:
os teares, as charruas e as bi gornas dos ferrei ros eram de construo
si mpl es e de pequeno val or rel ati vamente ao dos navi os mercantes.
Mas no scul o XVI I I a I ngl aterra i naugurou a era dos i nstrumentos
de produo custosos.
Os i mpl ementos do l avrador i ngl s foram subi ndo l entamente de
val or, por mui to tempo, mas o progresso se acel erou no scul o XVI I I .
Logo o uso da fora hi drul i ca, pri mei ro, e, em segui da, da energi a a
vapor determi nou a rpi da substi tui o dos i nstrumentos manuai s ba-
ratos por custosa maqui nari a, num departamento de produo depoi s
do outro. Como em pocas anteri ores os mai s custosos i mpl ementos
eram embarcaes e em al guns casos canai s para navegao e i rri gao,
agora so os mei os de comuni cao em geral ferrovi as e bondes,
canai s, docas e navi os, si stemas tel egrfi cos e tel efni cos, servi os de
gua; mesmo servi os de gs quase podem fi car nessa categori a, poi s
grande parte do seu equi pamento se apl i ca di stri bui o do gs. Depoi s,
vm as mi nas e i ndstri as si derrgi cas e qu mi cas, estal ei ros de cons-
truo naval , i mprensa, e outras grandes fbri cas repl etas de di spen-
di osa maqui nari a.
Para qual quer l ado que se ol he, veri fi ca-se que o progresso e a
fuso dos conheci mentos esto constantemente l evando adoo de
novos processos e de novas mqui nas, que economi zam o esforo hu-
mano, sob a condi o de que parte desse esforo seja despendi da mui to
antes da consecuo dos l ti mos fi ns a que el e se desti na. No fci l
medi r exatamente esse progresso, porque mui tas i ndstri as modernas
no ti veram equi val entes noutros tempos. Comparemos, porm, as con-
di es passadas e presentes das quatro grandes i ndstri as cujos pro-
dutos no mudaram o seu carter geral , a saber, agri cul tura, constru-
OS ECONOMISTAS
276
o, confeco de roupas e transportes. Nas duas pri mei ras, o trabal ho
manual ai nda mantm um papel i mportante: mesmo nel as, contudo,
h grande desenvol vi mento de di spendi osa maqui nari a. Comparem-se,
por exempl o, os i nstrumentos grossei ros de um campons i ndi ano, mes-
mo dos di as de hoje, com o equi pamento de um agri cul tor progressi sta
da Bai xa Escci a;
249
e consi derem-se as mqui nas de fabri car ti jol os,
de preparar argamassa, de serrar, apl ai nar, mol dar, abri r fendas, de
um construtor moderno, seus gui ndastes a vapor e sua l uz el tri ca. E
se nos vol tamos para as i ndstri as txtei s, ou ao menos para aquel as
que fabri cam os produtos mai s si mpl es, constatamos que nos tempos
anti gos cada arteso se contentava com i nstrumentos que custavam
apenas poucos meses de trabal ho, enquanto nos tempos modernos se
esti ma que a cada homem, mul her ou cri ana empregados corresponde
um capi tal s em i nstal ao fabri l de mai s de 200 l i bras, ou seja, o
equi val ente a ci nco anos de trabal ho. Da mesma sorte, o custo de um
navi o a vapor tal vez equi val ente ao trabal ho, durante qui nze anos
ou mai s, daquel es que trabal haram nel e; enquanto o capi tal de cerca
de 1 bi l ho de l i bras, apl i cado em ferrovi as na I ngl aterra e no Pa s
de Gal es, equi val e a mai s de vi nte anos de trabal ho dos 300 mi l em-
pregados nel as.
2. medi da que a ci vi l i zao tem progredi do, o homem tem
sempre desenvol vi do novas necessi dades, e novos e mai s di spendi osos
mei os de sati sfaz-l as. A marcha do progresso por vezes foi l enta, e
ocasi onal mente houve mesmo grandes retrocessos; mas agora avana
a passos agi gantados, cada ano mai s rpi dos, e no podemos di zer
onde vai parar. De todos os l ados novas perspecti vas se oferecem, todas
el as tendendo a transformar o carter de nossa vi da soci al e i ndustri al ,
e a habi l i tar-nos a empregar grandes reservas de capi tai s, a fi m de
prover novas sati sfaes e novos mei os de economi zar esforos pel a
apl i cao anteci pada destes, tendo em vi sta necessi dades remotas. Pa-
rece no haver boa razo para acredi tar que estejamos prxi mos de
MARSHALL
277
249 Os i nstrumentos agr col as de que di spe uma fam l i a de l avradores i ndi anos de pri mei ra
cl asse, que conte com sei s ou sete homens adul tos, so poucos e l eves arados e enxadas,
pri nci pal mente de madei ra, com um val or total de cerca de 13 rpi as (PHEAR, Si r G.
Aryan Village. p. 233) ou o equi val ente ao seu trabal ho de um ms; enquanto s o val or
da maqui nari a numa grande fazenda moderna, bem equi pada e arvel , ati nge 3 l i bras por
acre (Equipment of the Farm, edi tado por MORTON, J. C.), ou seja, um ano de trabal ho
de cada empregado. Essa maqui nari a compreende mqui nas a vapor, sul cadei ras, arados
comuns e profundos, al guns movi dos a vapor, outros de trao ani mal , di versas escavadei ras,
grades, rol os, destorroadoras, furadoras para semear e estrumar, cul ti vadores a trao
ani mal , anci nhos, cei fei ras, debul hadoras a vapor ou de fora ani mal , l i mpadoras de pal ha,
cortadoras de nabos, i mprensadoras de feno e mui tas outras mqui nas. Ao mesmo tempo,
aumenta o uso dos si l os e dos gal pes, e constantes progressos se fazem nas i nstal aes
de l ati c ni os e em outras construes da fazenda; todas essas coi sas vi sando, afi nal , a
grande economi a de esforos, mas exi gi ndo parti ci pao bem mai or destes na preparao
do cami nho para o trabal ho di reto do agri cul tor na l abuta da produo agr col a.
uma si tuao estaci onri a, na qual no haver novas necessi dades
i mportantes a serem sati sfei tas, na qual no mai s haja l ugar para
i nvesti r provei tosamente o esforo atual para preveni r o porvi r, e na
qual a acumul ao de ri queza dei xar de ser recompensada. Toda a
hi stri a do homem mostra que suas necessi dades se expandem com o
cresci mento de sua ri queza e de seus conheci mentos.
250
E com o aumento das oportuni dades para i nvesti mento de capi tal ,
h um aumento constante nesse excedente de produo sobre as coi sas
necessri as da vi da, o que traz a capaci dade de poupana. Quando as
artes de produo eram rudi mentares, havi a mui to pouco excedente,
exceto onde uma forte raa domi nadora sujei tava as massas escravas
a um duro trabal ho medi ante o estri tamente necessri o para a sub-
si stnci a, e onde o cl i ma era to ameno que essas necessi dades eram
l i mi tadas e faci l mente supri das. Mas cada progresso nas tcni cas de
produo e no capi tal acumul ado para auxi l i ar e manter o trabal ho
para uma produo futura el evava o excedente, graas ao qual mai s
ri queza podi a ser acumul ada. Depoi s, a ci vi l i zao se tornou vi vel
nos cl i mas temperados e mesmo nos cl i mas fri os; o aumento da ri queza
materi al foi poss vel sob condi es que no enervavam o trabal hador,
e que, por consegui nte, no destru am os prpri os fundamentos em
que esse aumento se assentava. Assi m, de passo em passo, a ri queza
e a ci nci a cresceram, e a cada passo o poder de acumul ar ri queza e
estender conheci mentos aumentou.
3. O hbi to de prever as necessi dades futuras e de prov-l as
se desenvol veu l enta e i rregul armente no curso de hi stri a. Vi ajantes
fal am-nos de tri bos que poderi am dupl i car os seus recursos e prazeres
OS ECONOMISTAS
278
250 Exempl o: os mel horamentos que recentemente tm si do fei tos em al gumas ci dades norte-
ameri canas i ndi cam que, medi ante um desembol so de capi tal , cada casa pode ser supri da
com o que necessi ta e desembaraada do que a prejudi ca, bem mai s efi cazmente do que
hoje, de sorte a capaci tar grande parte da popul ao a vi ver em ci dades e contudo l i bertar-se
de mui tos dos mal es atuai s da vi da urbana. O pri mei ro passo construi r sob as ruas
grandes tnei s, nos quai s mui tos canos e fi os possam ser col ocados l ado a l ado, e reparados
quando no esti verem em ordem, sem nenhuma i nterrupo do trfego geral e sem grande
despesa. Fora motri z e mesmo cal efao podem ser geradas a grandes di stnci as das
ci dades (em al guns casos em mi nas de carvo), e conduzi das para onde sejam necessri as.
A gua doce e a gua mi neral , e mesmo gua do mar e ar ozonado, podem ser l evadas
em canos separados a quase todas as casas; enquanto os tubos de vapor podem dar o cal or
no i nverno, o ar compri mi do pode reduzi -l o no vero; o cal or pode ser forneci do pel o gs
com al ta capaci dade trmi ca, em casos especi ai s, enquanto a l uz ori unda de um gs
apropri ado ou da el etri ci dade; e cada casa estar l i gada rede el tri ca da ci dade. Todos os
gases txi cos, i ncl usi ve os emanados dos foges domsti cos ai nda em uso, podem ser as-
pi rados por bombas potentes, atravs de l ongos condutores, puri fi cados de passagem por
grandes fornal has e em segui da l anados bem al to no ar por i mensas chami ns. A fi m de
l evar a efei to um tal pl ano nas ci dades da I ngl aterra, se exi gi ri a um gasto de capi tal mui to
superi or ao absorvi do pel as nossas estradas de ferro. Esta conjetura sobre o curso dos
futuros mel hor amentos ur banos pode estar di stante da verdade; mas ser ve par a i ndi car
uma das mui tas vi as nas quai s da exper i nci a do passado se pressentem l argas opor-
tuni dades para a apl i cao de esfor o atual em pr over os mei os de sati sfazer nossas
necessi dades futur as.
sem aumentar o seu trabal ho total , apenas se apl i cassem com um
pouco de antecednci a os mei os que esto a sua di sposi o e que so
do seu conheci mento; como, por exempl o, cercando suas pequenas pl an-
taes de l egumes contra a i nvaso de ani mai s sel vagens.
Contudo, mesmo essa apati a tal vez menos estranha do que o
desperd ci o encontrado presentemente entre al gumas cl asses de nosso
prpri o pa s. No so raros os casos de homens que al ternam per odos
em que ganham 2 ou 3 l i bras por semana com outros em que fi cam
reduzi dos mi sri a: a uti l i dade de um xel i m para el es, quando em-
pregados, menor que a de 1 pni , quando sem emprego, e entretanto
nunca cui dam de fazer provi so para o tempo de necessi dade.
251
No
extremo oposto h mi servei s, em al guns dos quai s a pai xo da avareza
ati nge as rai as da i nsani dade, e at entre propri etri os rurai s e al gumas
outras cl asses no raro encontramos pessoas que l evam a poupana
to a sri o a ponto de se pri varem dos bens de pri mei ra necessi dade,
e de prejudi carem a sua capaci dade de produo no futuro. Perdem
assi m de todos os modos: jamai s gozam real mente a vi da, enquanto a
renda que a sua ri queza acumul ada l hes traz menor do que a que
ganhari am com o aumento de sua capaci dade de trabal ho, se ti vessem
apl i cado nel es prpri os a ri queza que acumul aram em forma materi al .
Na ndi a, e em menor proporo na I rl anda, encontramos gente
que, na verdade, se abstm de prazeres i medi atos, guardam somas
consi dervei s com enorme sacri f ci o prpri o, e esbanjam todas as suas
economi as em suntuosas festas ou em ceri mni as fnebres e nupci ai s.
Fazem provi ses i ntermi tentes para o futuro prxi mo, mas di fi ci l mente
qual quer reserva para o futuro di stante: as grandes obras de engenhari a
pel as quai s os seus recursos produti vos mui to tm aumentado foram
fei tas pri nci pal mente com o capi tal do povo i ngl s, que se i mpe mui to
menos pri vaes.
Assi m, as causas que regem a acumul ao da ri queza di ferem
l argamente em di ferentes pa ses e pocas. El as no so as mesmas
entre doi s povos, e tal vez mesmo entre duas cl asses soci ai s num mesmo
povo. Dependem mui to das sanes soci ai s e rel i gi osas; e de notar
como, quando a fora coerci ti va do costume al go se enfraqueceu, as
di ferenas de carter pessoal determi nam que vi zi nhos, vi vendo em
condi es semel hantes, di fi ram uns dos outros mai s ampl a e mai s fre-
qentemente nos seus hbi tos de extravagnci a ou de parci mni a do
que em qual quer outro aspecto.
4. A prodi gal i dade dos pri mei ros tempos era devi da em grande
parte fal ta de segurana de que pudessem goz-l as os que fi zessem
provi ses para o futuro. S os j ri cos eram bastante fortes para de-
MARSHALL
279
251 El es descontam vantagens futuras (ver Li vro Quarto. Cap. V. 3) taxa de mui tos mi l
por cento ao ano.
fender o que economi zavam; o campons l abor i oso e que se i mpunha
pr i vaes par a acumul ar al guma r i queza, s par a v-l a ser ar r ancada
pel a mo de um mai s for te, er a um i ncenti vo aos seus vi zi nhos par a
gozar em o pr azer e o r epouso quando pudessem. A r egi o fr ontei r i a
entr e a I ngl ater r a e a Escci a fez pouco pr ogr esso dur ante um l ongo
per odo por que estava sujei ta a i ncessantes i ncur ses; do mesmo
modo, pouco economi zavam os campni os fr anceses do scul o XVI I I ,
que s podi am escapar da espol i ao dos col etor es de i mpostos fi n-
gi ndo-se de pobr es; i gual mente os camponeses da I r l anda, que, ai nda
h quar enta anos, er am obr i gados em mui tas fazendas a agi r da
mesma for ma a fi m de evi tar que os pr opr i etr i os r ur ai s l hes exi -
gi ssem r endas exor bi tantes.
Esse ti po de i nsegurana quase desapareceu no mundo ci vi l i zado.
Mas ai nda estamos sofrendo na I ngl aterra os efei tos da Lei dos Pobres,
que vi gorou no comeo do scul o passado, e i ntroduzi u uma nova forma
de i nsegurana para as cl asses trabal hadoras. Poi s di spunha que uma
parte dos seus sal ri os devi a, com efei to, ser paga em forma de assi s-
tnci a aos pobres; e esta di stri bu da entre el es na proporo i nversa
do seu trabal ho, da sua parci mni a e da sua previ dnci a, de sorte que
mui tos consi deravam i nsensatez economi zar para o futuro. As tradi es
e os i nsti ntos nutri dos por essa depl orvel experi nci a ai nda hoje cons-
ti tuem um grande obstcul o ao progresso das cl asses trabal hadoras,
e o pri nc pi o que ao menos nomi nal mente fundamenta a atual Lei dos
Pobres, de que o Estado deve l evar em conta o estado de pobreza e
no os mri tos do trabal hador, atua no mesmo senti do, ai nda que com
menos i ntensi dade.
Essa espci e de i nsegurana tambm se vai reduzi ndo: a expanso
de i di as escl areci das, no que respei ta aos deveres do Estado e dos
parti cul ares para com o pobre, tende a tornar cada di a mai s verdadei ro
que aquel es que se ajudam a si mesmos e se empenham em preveni r
o prpri o futuro devem ser mai s protegi dos pel a soci edade do que os
pregui osos e os i mprevi dentes. Mas o progresso nesse rumo ai nda
vagaroso, e mui to resta a fazer.
5. O cresci mento de uma economi a monetri a e dos modernos
hbi tos de negci o vem, na verdade, entravar a acumul ao de ri queza,
oferecendo novas tentaes aos que so i ncl i nados a vi ver na prodi ga-
l i dade. Nos vel hos tempos, se um homem careci a de uma boa casa
para morar, preci sava constru -l a; agora el e encontra boas casas em
abundnci a para al ugar. Anti gamente, se queri a uma boa cerveja, pre-
ci sava possui r uma boa cervejari a; hoje el a a compra mai s barato e
mel hor do que a que poderi a fabri car. Atual mente, pode tomar l i vros
emprestados a uma bi bl i oteca em l ugar de compr-l os; e pode mesmo
mobi l i ar a casa, antes de estar apto a pagar a mob l i a. Assi m, por
mui tos modos os si stemas modernos de compra e venda, de dar e tomar
OS ECONOMISTAS
280
emprsti mos, ao l ado do surgi mento de novas necessi dades, l evam a
novas extravagnci as, e subordi nao dos i nteresses do futuro aos
do presente.
Mas, por outro l ado, a economi a monetri a aumenta a vari edade
de usos entre os quai s uma pessoa pode di stri bui r seu gasto futuro.
Uma pessoa que, numa etapa pri mi ti va da soci edade, armazena al gu-
mas coi sas para precaver-se contra uma necessi dade futura pode achar,
afi nal , que no necessi ta tanto dessas coi sas como de outras que no
guardou: e h mui tas necessi dades futuras para as quai s no poss vel
prover-se di retamente pel o armazenamento de bens. Mas aquel e que
guardou capi tal , do qual aufere uma renda em di nhei ro, poder comprar
o que qui ser para enfrentar as necessi dades, medi da que surgi rem.
252
Outr ossi m, os moder nos mtodos de negci o tr ouxer am com
el es opor tuni dades par a a segur a col ocao de capi tai s de manei r a
a pr oduzi r um r endi mento par a as pessoas que no encontr am oca-
si o par a entr ar em nenhum negci o nem mesmo na agr i cul tur a,
onde a ter r a, sob cer tas condi es, tem o papel de um fundo de
poupana di gno de toda a confi ana. Essas novas opor tuni dades tm
i nduzi do mui ta gente, que de outr a for ma no tentar i a faz-l o, a
separ ar al guma coi sa par a a sua pr pr i a vel hi ce. Al m di sso, cau-
sando um efei to mui to mai or no desenvol vi mento da r i queza, tor -
nou-se assaz fci l par a um homem pr over com um r endi mento segur o
a mul her e fi l hos, depoi s de sua morte: poi s, afi nal de contas, a
afei o fami l i ar o pr i nci pal moti vo da poupana.
6. H, certo, al guns que encontram um prazer i ntenso em
contempl ar as suas economi as se acumul ando entre as suas mos,
quase sem preocupao pel as sati sfaes a serem obti das do seu uso,
por el es ou por outros. El es so i mpel i dos em parte pel o i nsti nto da
competi o, pel o desejo de supl antar seus ri vai s; pel o desejo de mostrar
capaci dade de fazer fortuna, e de adqui ri r poder e posi o soci al com
a sua posse. E por vezes a fora do hbi to, adqui ri do quando real mente
el es preci savam de di nhei ro, d-l hes, por uma espci e de ao refl exa,
um prazer arti fi ci al e i nsensato de acumul ar ri queza pel a ri queza.
Mas, no fosse pel a afei o fami l i ar, mui tos dos que trabal ham duro
e economi zam cui dadosamente no se esforari am seno para assegurar
uma anui dade que desse para o conforto de sua prpri a exi stnci a,
seja adqui ri ndo apl i ces de uma empresa de seguros, seja organi zan-
do-se para gastar cada ano, depoi s de aposentado, parte do seu capi tal
e toda a renda que este l he proporci one. No pri mei ro caso, nada dei xam
atrs de si ; no outro, apenas restari a aquel a parte de seu capi tal que
a morte l he houvesse i mpedi do de gastar. Que os homens trabal ham
MARSHALL
281
252 Ver Li vro Tercei ro. Cap. V. 2.
e poupam pri nci pal mente pel a sua fam l i a e no para si mesmos, pro-
va-se pel o fato de que despendem raramente, depoi s de aposentados,
mai s do que o rendi mento das suas economi as, preferi ndo dei xar i ntacto
para suas fam l i as o patri mni o acumul ado. Somente neste pa s 20
mi l hes de l i bras so economi zadas por ano em forma de apl i ces de
seguro, a serem resgatadas somente aps a morte do segurado.
Um homem no pode ter mai or est mul o empreendedor do que
a esperana de subi r na vi da, e permi ti r sua fam l i a comear de um
degrau superi or ao de que el e parti u na escal a soci al . Esse est mul o
pode tornar-se to predomi nante que reduza i nsi gni fi cnci a o desejo
de tranqi l i dade e assi m todos os prazeres comuns, e por vezes at
destrui r os senti mentos mai s al tos e as aspi raes mai s nobres. Mas,
como mostrou o maravi l hoso cresci mento da ri queza na Amri ca du-
rante a gerao atual , el e faz do homem um possante produtor e acu-
mul ador de fortunas, a menos, certo, que tenha grande pressa de
usufrui r a posi o soci al que a sua ri queza l he confere: sua ambi o
pode l ev-l o ento a esbanjamentos to grandes como aquel es a que
l evado um temperamento i mprevi dente e rel axado.
As mai ores poupanas so fei tas pel os que, cri ados com recursos
mi nguados, foram l evados a trabal har duramente, manti veram os h-
bi tos si mpl es a despei to do xi to nos negci os, nutrem desprezo pel os
gastos aparatosos e desejam ser consi derados mai s ri cos depoi s da
morte do que o tm si do. Esse ti po de carter freqente nas regi es
mai s tranqi l as de pa ses vel hos porm vi gorosos, e era mui to comum
entre as cl asses mdi as nos di stri tos rurai s da I ngl aterra por mai s de
uma gerao, depoi s da grande guerra com a Frana e dos pesados
i mpostos em que el a resul tou.
7. Passemos s fontes de acumul ao. A capaci dade de poupar
depende de que se tenha um excedente de renda sobre os gastos ne-
cessri os, excedente que , natural mente, mai or entre os mai s ri cos.
Em nosso pa s, a mai or parte das rendas mai s al tas, mas s al gumas
das menores, provm pri nci pal mente do capi tal , e no i n ci o do scul o
atual o hbi to de poupar estava mui to mai s arrai gado nas cl asses
comerci ai s do que entre a nobreza rural e as cl asses trabal hadoras.
I sso l evou os economi stas i ngl eses da l ti ma gerao a consi derar a
poupana quase excl usi vamente como produto dos l ucros do capi tal .
No entanto, mesmo na I ngl aterra moderna, a renda e os ganhos
das profi sses l i berai s e dos trabal hadores assal ari ados consti tuem uma
i mportante fonte de acumul ao, e foram as pri nci pai s fontes de acu-
mul ao em todas as etapas pri mi ti vas da ci vi l i zao.
253
Ademai s, as
cl asses mdi as e especi al mente as l i berai s sempre se pri varam de mui to
OS ECONOMISTAS
282
253 Ver JONES, Ri chard. Principles of Political Economy.
a fi m de empregar capi tal na educao dos fi l hos, enquanto grande
parte dos sal ri os das cl asses operri as i nvesti da na sade e vi gor
f si co dos seus fi l hos. Os anti gos economi stas l evaram em pouca conta
o fato de serem as facul dades humanas mei o de produo to i mportante
como qual quer outra espci e de capi tal ; e, no entanto, podemos concl ui r,
em oposi o a el es, que qual quer mudana na di stri bui o da ri queza
que d mai s aos que percebem sal ri os e menos aos capi tal i stas
capaz, em i gual dade de outras ci rcunstnci as, de acel erar o cresci mento
da ri queza materi al , e no retardar de forma percept vel a sua acu-
mul ao. Natural mente, as outras ci rcunstnci as no restari am i guai s
se a transformao vi esse por mei os vi ol entos que pusessem em xeque
a segurana pbl i ca. Mas uma restri o moderada e temporri a acu-
mul ao da ri queza no ser necessari amente um mal , mesmo de um
ponto de vi sta puramente econmi co, se, l evada a efei to aos poucos e
sem perturbaes, proporci ona mel hores oportuni dades grande massa
da popul ao, aumenta sua efi ci nci a e desenvol ve nel a os hbi tos de
que resul te o cresci mento de uma raa mui to mai s efi ci ente de produ-
tores na gerao segui nte. Por esse modo se pode promover mui to
mel hor, afi nal de contas, o cresci mento mesmo da ri queza materi al do
que pel a mul ti pl i cao do nmero de fbri cas e de mqui nas a vapor.
Um povo no qual a ri queza bem di stri bu da e que tem al tas
ambi es capaz de acumul ar grandes ri quezas sob a forma de pro-
pri edade pbl i ca; e s as economi as fei tas dessa forma pel as democra-
ci as ri cas consti tuem uma parte no desprez vel dos mel hores l egados
que a nossa poca herdou das precedentes. O progresso do movi mento
cooperati vo em todas as suas ml ti pl as formas soci edades de cons-
trues resi denci ai s, de socorros mtuos, si ndi catos, cai xas econmi cas
de trabal hadores etc. mostra que, mesmo quanto i medi ata acu-
mul ao da ri queza materi al , os recursos do pa s no se perdem i n-
tei ramente, como supunham os anti gos economi stas, quando despen-
di dos no pagamento de sal ri os.
254
8. Tendo exami nado os mtodos de poupana e a acumul ao
de ri queza, podemos agora vol tar anl i se das rel aes entre as sa-
ti sfaes i medi atas e as di feri das, que i ni ci amos, sob outro ponto de
vi sta, no estudo da procura.
255
Vi mos al i que quem quer que possua um estoque de uma mer-
cadori a apl i cvel a usos di versos se empenha em di stri bu -l a entre el es
todos, de modo a proporci onar-l hes a mxi ma sati sfao. Se jul ga poder
MARSHALL
283
254 pr eci so reconhecer , contudo, que os bens que passam como de dom ni o pbl i co so
por vezes nada mai s que ri queza pr i vada empr estada sob penhor de futur as r endas
pbl i cas. Os si stemas muni ci pai s de gs, por exempl o, no r esul tam geral mente de
acumul aes pbl i cas. Foram constru dos com as economi as de par ti cul ares, emprestadas
s muni ci pal i dades.
255 Aci ma, Li vro Tercei ro. Cap. V.
consegui r mai or vantagem transferi ndo uma parte dessa mercadori a
de um uso para outro, assi m o far. Dessa forma, se efetua a di stri bui o
de manei ra apropri ada, desti nar a cada uso a quanti dade de merca-
dori a sufi ci ente para obter a mai or uti l i dade poss vel (em outras pa-
l avras, di stri bui r suas di sponi bi l i dades entre os di versos usos de tal
modo que obtenha a mesma uti l i dade margi nal em cada um del es).
Vi mos, ai nda, que o pri nc pi o permanece i nvari vel , sejam i me-
di atos todos os usos, ou al guns atuai s e outros di feri dos; mas que,
neste l ti mo caso, entram em jogo al gumas novas consi deraes, das
quai s so preponderantes, em pri mei ro l ugar, que o adi amento de uma
sati sfao necessari amente i ntroduz um pouco de i ncerteza sobre se
el a vi r ou no a ser usufru da; e, em segundo l ugar, que, da forma
como consti tu da a natureza humana, um prazer i medi ato geral -
mente, embora no sempre, preferi do a um outro que se espera ser
i gual a el e e to seguro como possa ser qual quer aconteci mento futuro
da vi da humana.
Uma pessoa prudente que pensa que vai obter sati sfaes i guai s
dos mesmos recursos, em todos os per odos da sua vi da, se preocupar
tal vez em di stri bui r uni formemente os seus recursos por toda a sua
vi da; e se cr que sua capaci dade de produzi r renda se enfraquecer
al gum di a, certamente economi zar parte dos seus recursos para o
futuro. Agi r assi m no s consi derando que as suas economi as cres-
ceri am nas suas mos, mas mesmo acredi tando que di mi nui ri am. Guar-
dar al guns frutos e ovos para o i nverno, porque nessa ocasi o sero
escassos, embora no aumentem por serem guardados. Se no v um
mei o de i nvesti r os seus ganhos num negci o ou num emprsti mo, de
manei ra a obter provei to ou l ucro, segui r o exempl o de al guns de
nossos antepassados, que acumul avam pequenas reservas de gui nus,
que l evavam para o i nteri or do pa s, quando se reti ravam da vi da
ati va, esti mul ando que a sati sfao adi ci onal que obteri am do gasto
de poucos gui nus a mai s, quando o di nhei ro vi nha em abundnci a,
l hes seri a de menor provei to do que o conforto que os mesmos gui nus
l hes poderi am garanti r na sua vel hi ce. A guarda dos gui nus l hes dava
mui ta preocupao; e sem dvi da el es estari am di spostos a pagar uma
pequena soma a al gum que os l i vrasse desse i ncmodo, sem acarretar
nenhum ri sco.
Podemos, assi m, i magi nar um estado de coi sas no qual a ri queza
acumul ada s pudesse ser desti nada a usos de mui to pouca i mportnci a;
no qual mui tas pessoas desejari am prover ao seu prpri o futuro, e ao
mesmo tempo, entre as que preci sassem tomar bens emprestados, pou-
cas fossem capazes de oferecer boas garanti as de devol v-l os, ou de
dar bens equi val entes, numa data futura. Em tal si tuao, em vez de
se obter uma vantagem, o retardamento, a espera dos prazeres, causari a
um preju zo, uma vez que, entregando os seus recursos a outros para
guard-l os, uma pessoa apenas podi a esperar uma promessa segura
OS ECONOMISTAS
284
de receber al go menos, e no al guma coi sa a mai s do que el a emprestara:
a taxa de juros seri a negati va.
256
Tal estado de coi sas conceb vel , to conceb vel e quase to pro-
vvel como haver gente to ansi osa de trabal har, que suportasse al -
guma pena como uma condi o para que a dei xassem trabal har; poi s,
do mesmo modo que o adi ar o consumo de al gum dos seus recursos
coi sa que uma pessoa prudente poderi a desejar pel o si mpl es prazer
de faz-l o, assi m, tambm, fazer al gum trabal ho al go desejvel por
si mesmo para uma pessoa com sade. Os presos pol ti cos, por exempl o,
geral mente consi deram um favor a permi sso para fazerem um pequeno
trabal ho. E sendo a natureza humana como , temos razo em consi -
derar o juro do capi tal como a recompensa do sacri f ci o causado pel a
espera do gozo dos recursos materi ai s, porque poucas pessoas poupa-
ri am mui to sem recompensa; justamente como di zemos que os sal ri os
so a recompensa do trabal ho, porque poucas pessoas trabal hari am
seri amente sem retri bui o.
O sacri f ci o do prazer atual no i nteresse do futuro foi chamado
pel os economi stas de abstinncia. Mas esta expresso foi mal com-
preendi da: poi s os mai ores acumul adores de ri queza so pessoas mui to
ri cas, mui tas das quai s vi vem no l uxo, e certamente no prati cam
absti nnci a, no senti do em que esta pal avra si nni mo de temperana.
O que os economi stas queri am di zer que, quando uma pessoa se
abstm do consumo de al guma coi sa que pode consumi r, com o propsi to
de aumentar seus recursos para o futuro, sua absti nnci a desse ato
de consumo em parti cul ar aumenta a acumul ao de ri queza. Desde
que, contudo, o termo pode prestar-se confuso, podemos com van-
tagem evi tar o seu uso, di zendo que a acumul ao de ri queza geral -
mente o resul tado de um adi amento do gozo, ou fruto de uma espera
por el e.
257
Ou ai nda, em outras pal avras, depende da previdncia hu-
mana, i sto , da sua facul dade de prever o futuro.
O preo de procura da acumul ao, i sto , o prazer futuro que
uma pessoa pode obter do trabal ho e da espera de sati sfaes futuras,
toma di versas formas, mas no fundo sempre o mesmo. O prazer
adi ci onal que um campons que construi u um casebre prova de i n-
tempri es obtm de seu uso, enquanto a neve penetra nos dos seus
vi zi nhos, que gastaram menos trabal ho para constru -l os, o preo
MARSHALL
285
256 A sugesto de que a taxa de juros possa ser concebi da como quanti dade negati va foi di scuti da
por Foxwel l , num trabal ho sobre Some Social Aspects of Banking, l i do di ante do Bankers
I nsti tute, em janei ro de 1886.
257 Karl Marx e seus segui dores acharam mui to di verti do contempl ar as acumul aes de ri queza
resul tantes da absti nnci a do Baro de Rothschi l d, as quai s el es contrastaram com a ex-
travagnci a de um operri o que sustenta sua fam l i a de sete bocas com sete xel i ns por
semana; e que, gastando tudo o que ganha, no prati ca nenhuma absti nnci a econmi ca.
O argumento de que a espera e no a abstinncia que recompensada pel o juro e um
fator de produo foi desenvol vi do por Macvane, no J ournal of Economics, da Harvard, de
jul ho de 1887.
ganho pel o seu tr abal ho e esper a. Repr esenta a produtividade adi -
ci onal dos esfor os avi sadamente despendi dos par a pr eveni r mal es
futur os, ou par a a sati sfao de futur as necessi dades, em compar ao
com o que ter i a consegui do de uma i mpul si va avi dez de sati sfaes
i medi atas. Assi m, i sto se assemel ha, em todos os pontos fundamen-
tai s, ao jur o que o mdi co aposentado obtm do capi tal empr estado
a uma fbr i ca a fi m de possi bi l i tar-l he mel hor ar o maqui ni smo; e
em vi sta da pr eci so numr i ca com a qual pode ser expr esso, po-
demos tomar esse jur o como t pi co, r epr esentando a r emuner ao
pel o uso da r i queza sob outr as for mas.
No i mporta para o nosso objeti vo i medi ato que a facul dade de
desfrutar essa sati sfao futura tenha si do adqui ri da di retamente pel o
trabal ho, que a fonte ori gi nal de quase todas as sati sfaes; ou ad-
qui ri da de outros, por troca ou herana, pel o comrci o l eg ti mo ou por
mei os i nescrupul osos de especul ao, pel a espol i ao ou pel a fraude:
os ni cos pontos que nos i nteressam so que o cresci mento da ri queza
i mpl i ca em geral uma espera del i berada de um prazer que uma pessoa
tem a facul dade (justa ou i njustamente) de desfrutar i medi atamente,
e que essa sua di sposi o de esperar depende do seu hbi to de antever
o futuro com cl areza e de preveni r-se para el e.
9. Consi deremos mai s deti damente a afi rmao que fi zemos de
que, tal como a natureza humana, um aumento do prazer futuro
que pode ser assegurado por um dado sacri f ci o atual el evar em geral
a soma de sacri f ci o atual que se far. Suponhamos, por exempl o, que
al dees tm de arranjar madei ra da fl oresta para construi r suas casas:
quanto mai s di stante esti ver a fl oresta, menor ser o rendi mento em
conforto futuro de cada di a de trabal ho em procurar a madei ra, menor
ser o l ucro futuro da ri queza acumul ada provavel mente em cada di a
de trabal ho: e essa exi gi dade de prazer futuro a ser obti do de um
dado sacri f ci o presente tender a desencoraj-l os da ampl i ao de suas
casas; e di mi nui r tal vez no todo a soma de trabal ho que el es gastam
para consegui r a madei ra. Mas essa regra tem exceo. Poi s, se o
costume os fami l i ari zou com moradas de um s model o, quanto mai s
l onge estejam da mata, e quanto menor seja o aprovei tamento a obter
do produto de um di a de trabal ho, tanto mai or ser o nmero de di as
que trabal haro.
E, do mesmo modo, se uma pessoa espera no fazer el a prpri a
uso de sua ri queza, mas p-l a a render, quanto mai s al ta a taxa de
juros, mai or a recompensa pel a sua economi a. Se a taxa de juros e
i nvesti mentos seguros de 4%, uma pessoa que se pri va de 100 l i bras
de sati sfaes i medi atas pode esperar uma anui dade de 4 l i bras de
sati sfaes, mas apenas de 3 l i bras, se a taxa de 3%. E uma queda
na taxa de juros geral mente reduzi r a margem at a qual uma pessoa
acha que val e a pena pri var-se de sati sfaes i medi atas em troca de
OS ECONOMISTAS
286
sati sfaes futuras que podem ser proporci onadas pel a quanti dade eco-
nomi zada e, por consegui nte, far com que consuma um pouco mai s
agora e faa menos provi so para sati sfao futura. Mas essa regra
tambm tem exceo.
Si r Josi ah Chi l d observou h mai s de doi s scul os que nos pa ses
onde a taxa de juros al ta os comerci antes, quando al canam uma
grande fortuna, dei xam o comrci o e emprestam seu di nhei ro a juro,
sendo assi m o l ucro l qui do, certo e grande; enquanto em outros pa ses
onde a taxa de juros bai xa el es conti nuam comerci antes de gerao
a gerao, e enri quecem a si prpri os e ao Estado. E tanto verdade
hoje como o era naquel a ocasi o que mui tos homens se afastam dos
negci os quando ai nda esto quase na pl eni tude da vi da, e seu conhe-
ci mento dos homens e das coi sas os habi l i ta a conduzi r os negci os
mai s efi ci entemente do que nunca. E ai nda, como Sargant acentuou,
se um homem se deci di u a trabal har e economi zar at que proveja
certo rendi mento para sua vel hi ce, ou para sua fam l i a depoi s da morte,
constatar que tem que economi zar mai s se a taxa de juros bai xa,
do que se for al ta. Suponhamos, por exempl o, que el e deseja reti rar-se
dos negci os com uma renda anual de 400 l i bras ou fazer um seguro
de vi da de 400 l i bras anuai s em benef ci o da mul her e fi l hos: se ento
a taxa corrente de juros de 5%, el e preci sa apenas dei xar de l ado
ou segurar sua vi da por 8 mi l l i bras; mas se for de 4%, preci sa guardar
ou segurar sua vi da por 10 mi l l i bras.
ento poss vel que a bai xa cont nua da taxa de juros possa
ser acompanhada por um aumento cont nuo nos acrsci mos anuai s ao
capi tal mundi al . Mas no menos verdadei ro que uma bai xa dos be-
nef ci os remotos a serem ganhos com uma dada soma de trabal ho e
de espera tenda a reduzi r a reserva que se faa para o futuro; ou,
numa expresso mai s moderna, uma queda da taxa tende a obstar a
acumul ao da ri queza. Poi s, embora com a ampl i ao do poder do
homem sobre os recursos da natureza el e possa conti nuar a poupar
mui to menos com uma bai xa taxa de juros, contudo, enquanto a na-
tureza humana for como , cada reduo dessa taxa i mportar em
mai s gente a economi zar menos do que outra sorte o fari a.
258
10. As causas que r egem a acumul ao de r i queza e suas
r el aes com a taxa de jur os tm tantos pontos de contato com vr i as
par tes da ci nci a econmi ca, que di f ci l anal i s-l as compl etamente
numa s par te de nosso estudo. Se bem que no pr esente l i vr o nos
ocupemos sobr etudo da ofer ta, par eceu necessr i o i ndi car aqui , pr o-
MARSHALL
287
258 Ver tambm Li vro VI , Cap. 6. Contudo, deve observar-se que a dependnci a em que est
o cresci mento do capi tal da al ta esti mati va dos bens futuros parece ter si do superesti mada
pel os autores anti gos, no subesti madas, como argumenta o prof. Bhm-Bawerk.
vi sori amente, al go das rel aes gerai s entre a procura e a oferta do
capi tal . E vi mos que:
A acumul ao de ri queza governada por grande vari edade de
causas: pel o costume, pel os hbi tos de autocontrol e e de antevi so do
futuro, e sobretudo pel o poder do senti mento fami l i ar. A segurana
condi o para el a, uma condi o necessri a, e o progresso dos conhe-
ci mentos e da i ntel i gnci a i mpul si ona-a de mui tos modos.
Um aumento na taxa de juros do capi tal , quer di zer, no preo
de procura da poupana, tende a aumentar o vol ume desta l ti ma.
Poi s, a despei to do fato de que umas tantas pessoas que tenham deci di do
assegurar-se uma renda de certo montante fi xo, para si e suas fam l i as,
economi zaro menos com uma taxa al ta de juros, do que com uma
bai xa, uma regra quase uni versal que uma al ta na taxa aumenta o
desejo de poupar; e freqentemente aumenta a capacidade de poupar,
ou, mel hor di zendo, , mui tas vezes, uma i ndi cao de que a efi ci nci a
de nossos recursos produti vos aumentou. Mas os vel hos economi stas
foram l onge demai s sugeri ndo que um aumento de juro (ou de l ucros)
a expensas dos sal ri os sempre aumenta a capaci dade de poupar, poi s
esqueceram que, do ponto de vi sta naci onal , o i nvesti mento de ri queza
no fi l ho do trabal hador to produti vo quanto o seu i nvesti mento em
caval os ou maqui nari a.
Deve-se, no entanto, recordar que a soma de ri queza i nvesti da
num ano apenas uma parte reduzi da do estoque j exi stente, e que,
portanto, este no aumentari a sensi vel mente num ano, mesmo com o
aumento consi dervel na taxa anual de poupana.
NOTA SOBRE AS ESTATSTICAS DO
CRESCIMENTO DA RIQUEZA
11. A hi stri a estat sti ca do cresci mento da ri queza suma-
mente pobre e suscet vel de i nduzi r a erro. I sso devi do, em parte, a
di fi cul dades i nerentes a qual quer tentati va de dar uma medi da num-
ri ca da ri queza, a qual possa ser apl i cvel a di ferentes l ugares e tempos,
e, em parte, por fal ta de tentati vas si stemti cas de col i gi r os dados
necessri os. O Governo dos Estados Uni dos, verdade, i ndaga do pa-
tri mni o de cada pessoa; embora os resul tados assi m obti dos no sejam
sati sfatri os, so contudo tal vez os mel hores que temos.
Esti mati vas da ri queza de outros pa ses tm que ser baseadas
quase excl usi vamente em esti mati vas de rendi mentos, ou rendas, que
so capi tal i zadas a taxas di versas, escol hi das com refernci a (I ) taxa
geral de juros corrente no ano; (I I ) cl asse de renda de que se trate,
segundo seja devi da: (a) permanente capaci dade reproduti va da pr-
pri a ri queza; e (b) ao trabal ho empregado na sua apl i cao ou ao des-
gaste do prpri o capi tal . Esta l ti ma categori a especi al mente i mpor-
tante no caso de usi nas metal rgi cas, que se depreci am rapi damente,
OS ECONOMISTAS
288
MARSHALL
289
e ai nda mai s no das mi nas que se espera fi quem l ogo exauri das; em
ambos no podem ser concedi dos mui tos anos capi tal i zao. Por
outr o l ado, a capaci dade de r endi mento da ter r a pr ovavel mente au-
menta; e onde for o caso, a r enda da ter r a ser capi tal i zada em
mui tos anos (o que pode ser consi der ado fazendo uma pr ovi so ne-
gati va, no i tem I I , b).
A terra, as casas e o gado so as trs formas de ri queza que
ocuparam o pri mei ro pl ano de i mportnci a, sempre e em toda a parte.
Mas a terra di fere das outras coi sas no fato de o aumento do seu val or
ser devi do pri nci pal mente sua escassez; e por i sso mai s uma medi da
das necessi dades crescentes do que dos crescentes mei os de sati sfaz-
l as. Assi m, a terra nos Estados Uni dos, em 1880, era cotada a val or
aproxi madamente i gual ao da terra no Rei no Uni do, e em cerca de
metade do val or da Frana. Seu val or monetri o era i nsi gni fi cante h
cem anos; e se a densi dade da popul ao daqui a doi s ou trs scul os
for a mesma nos Estados Uni dos e no Rei no Uni do, a terra do pri mei ro
val er ao menos vi nte vezes mai s que a do l ti mo.
No pri nc pi o da I dade Mdi a o val or gl obal do sol o na I ngl aterra
era menor do que o dos poucos ani mai s de grande ossatura, mas de
pequeno porte, que morri am de fome durante o i nverno: atual mente,
se bem que mui tas das mel hores terras sejam recenseadas como casas,
ferrovi as etc.; se bem que o gado seja provavel mente mai s de dez vezes
superi or em peso total , e de mel hor qual i dade; e embora haja hoje um
abundante capi tal agr col a em apl i caes outrora desconheci das, as
terras agr col as val em hoje mai s de trs vezes o val or do gado. Os
poucos anos de presso da grande guerra com a Frana quase dobraram
o val or nomi nal da terra na I ngl aterra. Desde ento, a l i berdade de
comrci o, os mel horamentos nos transportes, a abertura de novas re-
gi es, e outras causas, rebai xaram o val or nomi nal da poro de terra
desti nada agri cul tura e fi zeram com que o poder aqui si ti vo geral da
moeda em termos de mercadori as subi sse na I ngl aterra rel ati vamente
ao do resto da Europa. No pri nc pi o do scul o passado, 25 francos
comprari am mai s, e especi al mente mai s coi sas necessri as s cl asses
popul ares, na Frana e na Al emanha, do que 1 l i bra na I ngl aterra.
Mas hoje a vantagem est do outro l ado: e i sso faz com que o recente
desenvol vi mento da ri queza da Frana e da Al emanha parea ser mai or
que o da I ngl aterra, mai or do que na real i dade.
Quando se l evam em conta fatos dessa natureza, assi m como o
de que uma bai xa na taxa de juros aumenta o nmero de anos nos
quai s uma renda ser capi tal i zada, e, portanto, o val or da propri edade
que a produz, vemos que as esti mati vas da ri queza naci onal so mui to
duvi dosas, mesmo se as estat sti cas das rendas, em que se basei am,
fossem exatas. No obstante, tai s esti mati vas no so compl etamente
desprovi das de val or.
OS ECONOMISTAS
290
O Growth of Capital, de Si r R. Gi ffen, e Riches and Poverly, do
sr. Chi ozza Money, contm sugesti vas di scusses sobre mui tas ci fras
do quadro da pg. 289. Mas as di vergnci as entre el es mostram a
grande i mpreci so de tai s esti mati vas. A esti mati va de Money sobre
o val or da terra, i sto , a terra cul ti vvel com as construes rurai s,
provavel mente demasi ado bai xa. Si r R. Gi ffen aval i a a propri edade
pbl i ca em 500 mi l hes de l i bras esterl i nas, e omi te os emprsti mos
pbl i cos cobertos no pa s, sob o fundamento de que as recei tas atravs
del es se compensari am, sendo pel o mesmo i mporte debi tada propri e-
dade pbl i ca e credi tada propri edade pri vada. Mas Money cal cul a o
val or bruto das estradas, parques, edi f ci os, pontes, esgotos, usi nas
el tri cas etc., em 1,65 bi l hes de l i bras, e, aps deduzi r os emprsti mos
pbl i cos na i mportnci a de 1,2 bi l hes de l i bras, acha 450 mi l hes
para o val or l qui do da propri edade pbl i ca; desta forma, se torna apto
a computar a i mportnci a dos emprsti mos pbl i cos cobertos no pa s
como propri edade pri vada. El e esti ma o val or de t tul os de bol sa, de
emi sso estrangei ra, e outros bens estrangei ros, de que so ti tul ares
pessoas no Rei no Uni do, em 1,821 bi l hes de l i bras. Essas aval i aes
de ri queza so pri nci pal mente baseadas em esti mati vas de renda; e,
a respei to das estat sti cas de renda, devemos di ri gi r nossa ateno
para a i nstruti va anl i se de Bowl ey no National progress since 1882,
e no The Economic J ournal, de setembro de 1904.
Si r R. Gi ffen aval i a a ri queza do I mpri o Bri tni co em 1903
(Statistical J ournal. v. 66, p. 584) assi m, em mi l hes de l i bras:
Rei no Uni do . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000
Canad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 350
Austrl i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 100
ndi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 000
fri ca do Sul . . . . . . . . . . . . . . . . 600
Outras partes do I mpri o . . . . . . 1 200
Um ensai o hi stri co sobre as al teraes na ri queza rel ati va das
di versas partes da I ngl aterra foi extra do por Rogers dos assentamentos
dos vri os condados para fi ns de tri butao. A grande obra do Vi sconde
dAvenel , LHistoire conomique de la Proprit etc. 1200-1800, contm
grande cpi a de materi al sobre a Frana; e estudos comparati vos do
cresci mento da ri queza na Frana e em outras naes tm si do fei tos
por Levasseur, Leroy Beaul i eu, Neymarck e de Fovi l l e.
Crammond, fal ando ao I nsti tute of Bankers, em maro de 1919,
esti mou a ri queza naci onal do Rei no Uni do em 24 bi l hes de l i bras, e
a renda naci onal em 3,6 bi l hes. Esti mou que o val or l qui do das i n-
verses do pa s no estrangei ro ca ram para 1,6 bi l hes, tendo si do
recentemente vendi dos t tul os no montante de 1,6 bi l hes, e tomados
de emprsti mos outros 1,4 bi l hes. No fi nal , o pa s parece credor da
soma de 2,6 bi l hes de l i bras; mas grande parte desse montante no
se pode consi derar sufi ci entemente segura.
MARSHALL
291
CAPTULO VIII
Organizao Industrial
1. Todos os que escr ever am sobr e ci nci as soci ai s, desde o
tempo de Pl ato, se compr azer am em i nsi sti r no aumento de efi -
ci nci a que o tr abal ho obtm da or gani zao. Mas neste caso, como
em tantos outr os, Adam Smi th deu a uma anti ga doutr i na um senti do
novo e mai s ampl o, pel a acui dade fi l osfi ca com que a expl i cou e
pel o conheci mento pr ti co de que se ser vi u par a i l ustr -l a. Depoi s
de i nsi sti r nas vantagens pr oveni entes da di vi so do tr abal ho, e de
r essal tar como esta tor na poss vel a uma popul ao mai or vi ver
confor tavel mente num ter r i tr i o r estr i to, ar gumentou que a pr esso
da popul ao sobr e os mei os de subsi stnci a tende a el i mi nar as
r aas que, por fal ta de or gani zao ou por qual quer outr o moti vo,
so i ncapazes de ti r ar todo o pr ovei to poss vel dos r ecur sos exi stentes
nos l ugar es em que vi vem.
Antes que o l i vro de Adam Smi th ti vesse al canado um grande
pbl i co, mui tos bi l ogos j comeavam a fazer grandes progressos no
senti do da compreenso da verdadei ra natureza das di ferenas de or-
gani zao que separam os ani mai s superi ores dos i nferi ores, e antes
que duas geraes ti vessem passado, o ensai o hi stri co de Mal thus
sobre a l uta pel a vi da l evou Darwi n a pesqui sar sobre o efei to que
essa l uta pel a vi da exerci a sobre o mundo vegetal e ani mal , da re-
sul tando a descoberta da i nfl unci a sel eti va que essa l uta sempre exer-
ceu. Desde ento a bi ol ogi a j pagou, com juros, a sua d vi da, e os
economi stas, por sua vez, se aprovei taram mui to das anal ogi as, nu-
merosas e profundas, que foram descobertas entre a organi zao soci al ,
especi al mente a i ndustri al , de um l ado, e a organi zao f si ca dos ani -
mai s superi ores, de outro. certo que, em al guns poucos casos, essas
anal ogi as aparentes desapareceram ao serem exami nadas mai s deti -
damente; porm, mui tas das que, a pri nc pi o, pareci am meras fantasi as
foram pouco a pouco compl etadas por outras, e acabaram por justi fi car
293
sua pr etenso de ser vi r de exempl o uni dade de ao fundamental
que exi ste entr e as l ei s da natur eza no mundo f si co e no mor al .
Essa uni dade centr al se expr i me na r egr a ger al , que no compor ta
gr ande nmer o de excees, que di z que o desenvol vi mento de um
or gani smo, seja f si co ou soci al , envol ve uma cr escente subdi vi so
de funes das suas di fer entes par tes, ao mesmo tempo que aumenta
a conexo nti ma que exi ste entr e el as.
259
Cada uma das par tes v
di mi nui r sua auto-sufi ci nci a, e seu bem-estar passa a depender
cada vez mai s das outr as par tes, de modo que qual quer desor dem
em uma das par tes de um or gani smo de desenvol vi mento super i or
afetar tambm as demai s par tes.
Essa crescente subdi vi so de funes, ou di ferenci ao, como
chamada, mani festa-se com respei to i ndstri a sob di versas formas,
tai s como a di vi so do trabal ho e o desenvol vi mento da especi al i zao
da mo-de-obra, do conheci mento e da maqui nari a, ao passo que a
i ntegrao, ou seja, o aumento das rel aes e a fi rmeza das conexes
entre as di ferentes partes de um organi smo i ndustri al , se mani festa
no aumento da estabi l i dade do crdi to comerci al , nos mei os e hbi tos
de comuni cao por terra e mar, por estrada de ferro e por tel grafo,
correi o e i mprensa.
A teori a segundo a qual so os organi smos mai s desenvol vi dos
no senti do em que acabamos de usar essa expresso os mai s
aptos a sobrevi ver na l uta pel a exi stnci a est, el a prpri a, em processo
de desenvol vi mento. No est ai nda compl etamente el aborada, tanto
nas suas rel aes bi ol gi cas como nas econmi cas, porm j podemos
passar a consi derar as pri nci pai s conseqnci as econmi cas da l ei , se-
gundo a qual a l uta pel a exi stnci a faz com que se mul ti pl i quem os
organi smos mai s capazes de se aprovei tarem das vantagens que o seu
mei o oferece.
Essa l ei r equer i nter pr etao cautel osa, poi s o fato de uma
coi sa ser benfi ca ao seu mei o no sufi ci ente par a assegur ar sua
sobr evi vnci a, quer no mundo f si co, quer no mor al . A l ei da so-
br evi vnci a do mai s apto di z que tendem a sobr evi ver os or gani smos
mai s aptos a uti l i zar o mei o ambi ente par a os seus pr pr i os fi ns.
Os que mai s se uti l i zam do mei o so, na mai or par te dos casos, os
mesmos que mai s benefi ci am os que os cer cam, mas, por vezes,
tr ata-se de ser es pr ejudi ci ai s.
I nversamente, a l uta pel a exi stnci a no consegue por vezes fazer
surgi r organi smos que seri am al tamente benfi cos: e no mundo eco-
nmi co a procura de uma organi zao i ndustri al no susci ta, necessa-
OS ECONOMISTAS
294
259 Ver uma bri l hante comuni cao de Hckel sobre Arbei tsthei l ung i n Menschen und Thi er-
l eben e Bau und Leben des soci al en Krpers, de Schffl e.
ri amente, uma oferta, a menos que se trate de al go mai s que um
desejo, ou seja, uma necessi dade. preci so que se trate de uma procura
efi ci ente, i sto , uma procura que oferea uma remunerao adequada
ou qual quer outra vantagem aos que esti verem aptos a sati sfaz-l a.
260
O mero desejo, por parte dos empregados, de parti ci par da admi ni s-
trao e dos l ucros da fbri ca em que trabal ham, ou a necessi dade,
por parte de jovens i ntel i gentes, de obter uma boa educao tcni ca,
no consti tuem uma procura, no senti do em que se usa o termo quando
se di z que a oferta segue, natural e certamente, a procura. Essa parece
ser uma dura verdade, mas al guns dos seus aspectos mai s speros so
suavi zados pel o fato de que aquel as raas cujos membros se entreaju-
dam, sem receber recompensa di reta al guma, so as mai s aptas no
s a progredi r mas tambm a ter grande nmero de descendentes que
herdam seus hbi tos benfi cos.
2. Mesmo no mundo vegetal , uma espci e de pl anta que negl i -
genci asse os i nteresses de suas sementes acabari a por desaparecer da
face da Terra, por mai s vi goroso que fosse o seu cresci mento. As obri -
gaes da fam l i a e da raa so freqentemente grandes no rei no ani -
mal , e mesmo os ani mai s predadores, os que estamos acostumados a
consi derar protti pos da cruel dade, que se uti l i zam ferozmente do am-
bi ente sem l he dar nada em troca, esto sempre di spostos, como i ndi -
v duos, a se esforarem por sua cri a. E passando dos i nteresses l i mi -
tados da fam l i a aos da raa vemos que, entre os ani mai s que chamamos
de soci ai s, como as abel has e as formi gas, as raas que sobrevi vem
so aquel as em que os i ndi v duos so mai s energti cos na execuo
dos di versos servi os exi gi dos pel a soci edade, sem se preocupar com
um ganho i ndi vi dual di reto.
Mas quando chegamos aos seres humanos, dotados de raci oc ni o
e de fal a, a i nfl unci a que um senti do de dever tri bal possa ter sobre
o aumento da fora da tri bo toma as mai s vari adas formas. verdade
que, nos estgi os mai s pri mi ti vos da vi da humana, mui tos dos servi os
que um i ndi v duo presta aos outros so moti vados pel o hbi to heredi -
tri o e por um i mpul so sem nenhuma refl exo, como os que movem
as formi gas e as abel has. Mas o sacri f ci o del i berado, e portanto moral ,
no tarda em aparecer; el e al i mentado pel os previ dentes ensi namen-
tos dos profetas, dos sacerdotes e dos l egi sl adores, e i ncul cado por
mei o das parbol as e l endas. Pouco a pouco, a si mpati a i nsti nti va, da
MARSHALL
295
260 Como todas as outras teori as da mesma espci e, esta requer ser i nterpretada l uz do fato
de que a procura efeti va de um comprador depende tanto de seus mei os como de suas
necessi dades. Uma pequena necessi dade de um homem ri co freqentemente tem mai s fora
no control e dos arranjos comerci ai s do mundo do que uma grande necessi dade por parte
de um homem pobre.
qual h germes entre os ani mai s i nferi ores, estende seu campo de ao
e passa a ser adotada del i beradamente, como base de ao. A afei o
tri bal , que se i ni ci a num pl ano pouco mai s el evado do que o exi stente
entre uma al cati a de l obos ou uma quadri l ha de sal teadores, el eva-se
at se transformar num patri oti smo de carter nobre o i deal rel i gi oso
se el eva e se puri fi ca. As raas nas quai s essas qual i dades esti verem
mai s desenvol vi das sero, certamente, em i gual dade de ci rcunstnci as,
mai s fortes que outras em guerras e em l utas contra a fome ou epi -
demi as, e acabaro por sobrevi ver s demai s. Assi m, poi s, a l uta pel a
exi stnci a faz que, a l ongo prazo, sobrevi vam as raas em que o i ndi -
v duo esti ver mai s di sposto a se sacri fi car pel a col eti vi dade, ou seja,
as raas mai s bem adaptadas col eti vamente a se uti l i zarem do seu
mei o ambi ente.
I nfel i zmente, porm, nem todas as qual i dades que fazem com
que uma raa sobrepuje outra benefi ci am a humani dade em seu con-
junto. Natural mente estari a errado acentuar demai s o fato de terem
os hbi tos guerrei ros, freqentemente, permi ti do que os povos brbaros
domi nassem outros povos que l hes eram mui to superi ores em todas
as vi rtudes da paz, poi s conqui stas dessa espci e servi ram para au-
mentar, pouco a pouco, o vi gor f si co do mundo, sua capaci dade para
mai ores empreendi mentos, e os resul tados fi nai s foram antes benfi cos
do que mal fi cos. Mas poss vel admi ti r, sem fazer as mesmas res-
tri es, que o si mpl es fato de uma raa se ter desenvol vi do no mei o
ou ao l ado de outra no prova seu di rei to de benemernci a, poi s, embora
a bi ol ogi a e as ci nci as soci ai s mostrem por vezes que al guns parasi tas
benefi ci am, de manei ra i nesperada, a raa que expl oram, na mai ori a
dos casos el es se l i mi tam a se aprovei tar dos seres custa dos quai s
vi vem, sem nada l hes dar em troca. O fato de haver, na Europa Ori ental
e na si a, uma procura econmi ca dos servi os dos cambi stas ou pres-
tami stas armni os e judeus, e do trabal ho dos chi neses na Cal i frni a,
no consti tui por si uma prova, nem mesmo fornece uma base sl i da
para se acredi tar que tai s arranjos tendam a el evar a qual i dade da
vi da humana, tomada em conjunto. Poi s, embora uma raa que dependa
i ntei ramente de seus prpri os recursos di fi ci l mente prospere, a no
ser que esteja ampl amente dotada das mai s i mportantes vi rtudes so-
ci ai s, uma raa que no possua essas vi rtudes e que no seja capaz
de progredi r por si pode chegar a prosperar graas s suas rel aes
com outra raa. De manei ra geral , porm, e dando margem a grandes
excees, sobrevi vem as raas nas quai s as mel hores qual i dades ati n-
gi ram mai or grau de desenvol vi mento.
3. Essa i nfl unci a da heredi tari edade essenci al mente acen-
tuada numa organi zao soci al , porquanto esta , necessari amente, o
OS ECONOMISTAS
296
pr oduto de mui tas ger aes, e deve se basear nos costumes e apti des
da gr ande massa da popul ao, i ncapaz de tr ansfor maes sbi tas.
Nos per odos pr i mi ti vos, quando as or gani zaes r el i gi osa, pol ti ca,
mi l i tar e i ndustr i al estavam i nti mamente r el aci onadas entr e si , sen-
do como aspectos di ver sos de uma mesma coi sa, quase todas as
naes que encabeavam o pr ogr esso humano ti nham em comum
um si stema mai s ou menos r i gor oso de castas. Esse fato basta par a
pr ovar que o si stema de castas estava bem adaptado ao mei o, e que
for tal eci a as r aas ou naes que o adotavam, poi s, como se tr atava
de um fator que domi nava toda a exi stnci a, as naes que o ado-
tavam no ter i am podi do sobr epujar as demai s se os r esul tados
desse si stema no fossem notadamente benfi cos. Sua pr edomi nn-
ci a no pr ova que el e no ti vesse defei tos, mas pr ova que as suas
vantagens, em r el ao quel e estgi o do pr ogr esso humano, er am
mai or es do que os seus defei tos.
Ademai s, sabemos que uma espci e ani mal ou vegetal pode se
di ferenci ar das concorrentes por duas qual i dades, uma das quai s cons-
ti tui uma grande vantagem, ao passo que a outra desprovi da de
i mportnci a, ou mesmo l evemente prejudi ci al . Num caso desses, a pri -
mei ra qual i dade faz com que a espci e subsi sta, apesar de possui r a
segunda, e essa sobrevi vnci a no prova que a espci e seja benfi ca.
Da mesma forma, a l uta pel a exi stnci a manteve na raa humana
mui tas qual i dades e hbi tos que no eram em si vantajosos, mas que
estavam associ ados, por um l i ame mai s ou menos permanente, a outras
qual i dades e hbi tos que consti tu am grandes fontes de energi a. Exem-
pl o di sso a tendnci a que tm os povos que devem sua superi ori dade
a vi tri as mi l i tares de se portar como opressores, e de desprezar todo
trabal ho que dependa excl usi vamente da paci nci a; e, i gual mente, a
tendnci a que tm as naes que se dedi cam ao comrci o de dar grande
val or ri queza e de uti l i z-l a por puro exi bi ci oni smo. Mas os exempl os
mai s notvei s se encontram em matri a de organi zao: a excel ente
adaptao do si stema de castas para o trabal ho especi al que devi am
fazer permi ti u que el e fl orescesse, apesar de seus grandes defei tos, o
pri nci pal dos quai s era a sua ri gi dez e o sacri f ci o do i ndi v duo em
benef ci o da col eti vi dade, ou antes, de certas exi gnci as especi ai s da
soci edade.
Dei xando de l ado os estgi os i ntermedi ri os e tratando i medi a-
tamente da organi zao moderna do mundo oci dental , vemos que el a
apresenta um contraste surpreendente e uma semel hana no menos
caracter sti ca com o si stema de castas. Por um l ado, a ri gi dez foi subs-
ti tu da pel a pl asti ci dade: os processos i ndustri ai s, estereoti pados ento,
evol uem agora com uma rapi dez assombrosa; as rel aes soci ai s entre
as cl asses e a posi o do i ndi v duo dentro de sua cl asse, que eram
MARSHALL
297
ento estabel eci das defi ni ti vamente pel as r egr as tr adi ci onai s, so
agor a per fei tamente var i vei s e modi fi cam suas for mas com as ci r -
cunstnci as do di a. Mas, por outr o l ado, o sacr i f ci o do i ndi v duo
s exi gnci as da soci edade em r el ao pr oduo de r i queza par ece,
em cer tos aspectos, ser um caso de atavi smo, uma vol ta s condi es
que pr edomi navam nas pocas r emotas em que tudo estava subme-
ti do a um si stema de castas. I sso por que a di vi so do tr abal ho entr e
as di fer entes categor i as da i ndstr i a e entr e os di fer entes i ndi v duos
na mesma categor i a to compl eta e i nfl ex vel que os r eai s i nte-
r esses do pr odutor cor r em por vezes o r i sco de ser em sacr i fi cados,
a fi m de aumentar a soma que o seu tr abal ho acr escenta pr oduo
total da r i queza mater i al .
4. Embor a Adam Smi th i nsi sti sse nas vantagens ger ai s dessa
mi nuci osa di vi so do tr abal ho e daquel a suti l or gani zao i ndustr i al
que estava se desenvol vendo, em sua poca, com r api dez i nusi tada,
teve o cui dado de i ndi car mui tos pontos nos quai s o si stema apr e-
sentava fal has, e mui tos mal es aci dentai s que el e acar r etava.
261
Mas
mui tos dos seus segui dor es, com menos di scer ni mento fi l osfi co e,
em al guns casos, com um conheci mento menos apr ofundado do mun-
do, ar gumentar am ousadamente que tudo quanto exi ste est cer to.
Afi r mavam, por exempl o, que um homem que ti vesse tal ento par a
l evar adi ante um empr eendi mento comer ci al cer tamente uti l i zar i a
esse tal ento em benef ci o da humani dade; e que, ao mesmo tempo,
outr os, per segui ndo seus pr pr i os fi ns, ver -se-i am i nduzi dos a pr o-
v-l o do capi tal de que pudesse ti r ar mel hor pr ovei to; e que seu
pr pr i o i nter esse o l evar i a a or gani zar seu pessoal de tal for ma que
cada um dos seus empr egados desenvol vesse o mel hor tr abal ho de
que fosse capaz, e no outr o, e o i nduzi r i a tambm a adqui r i r toda
a maqui nar i a e todos os el ementos de pr oduo que pudessem, em
suas mos, contr i bui r mai s do que o equi val ente do seu custo par a
supr i r as necessi dades do mundo.
Essa teori a da organi zao natural contm mai s verdades da
mxi ma i mportnci a para a humani dade do que qual quer outra que,
como el a, fuja compreenso daquel es que di scutem graves probl emas
soci ai s sem um estudo adequado. El a ti nha um si ngul ar fasc ni o para
os esp ri tos si nceros e de pensamentos el evados, mas seus exageros
causaram grandes danos, especi al mente para aquel es que mai s se com-
prazi am nel a, porque os i mpedi u de ver, e portanto de evi tar, os mal es
que estavam uni dos aos benef ci os exi stentes nas transformaes que
OS ECONOMISTAS
298
261 Ver Li vro Pri mei ro. Cap. I V, 8.
se processavam em seu redor. I mpedi u que procurassem averi guar se
mui tas das apl i caes da i ndstri a moderna no seri am transi tri as,
tendo grande val or na sua poca, como foi o caso do si stema de castas,
mas que, como el e, prestari am mai ores servi os para abri r cami nho a
um per odo mel hor. Al m di sso, a teori a causou grandes mal es por ter
ensejado uma reao exagerada contra el a.
5. Al m di sso, a teori a no l evou em consi derao o fato de
que o uso fortal ece os rgos. Herbert Spencer i nsi sti u na regra que
di z que, se um determi nado exerc ci o f si co ou mental causa prazer e,
portanto, fei to com freqnci a, os rgos f si cos ou mentai s nel e uti -
l i zados provavel mente crescero com rapi dez. Entre os ani mai s i nfe-
ri ores a ao dessa regra est to i nti mamente l i gada da sobrevi vnci a
dos mai s aptos, que freqentemente no necessri o dar nfase
separao entre as duas. Como poderi a ser presumi do a priori e parece
fi car provado pel a observao, a l uta pel a sobrevi vnci a tende a i mpedi r
que os ani mai s se comprazam no exerc ci o das funes que no con-
tri buam para o seu bem-estar.
O homem, porm, com sua forte i ndi vi dual i dade, tem uma l i ber-
dade mai or. El e se compraz no exerc ci o de suas facul dades por el as
mesmas; s vezes as uti l i za nobremente, quer com o desprendi mento
dos gregos anti gos, quer sob a ao de um esforo refl eti do e fi rme,
em vi sta de fi ns i mportantes; outras vezes, faz mau uso del as, como
no caso do desenvol vi mento mrbi do do gosto pel a bebi da. As facul dades
rel i gi osas, morai s, i ntel ectuai s e art sti cas de que depende o progresso
da i ndstri a no se desenvol vem apenas em vi sta das coi sas que el as
permi tem obter. Pel o contrri o, desenvol vem-se por serem exerci tadas
graas ao prazer e fel i ci dade que acarretam. Da mesma manei ra, a
boa organi zao de um Estado, que o mai or fator da prosperi dade
econmi ca, o produto de uma vari edade i nfi ni ta de moti vos, mui tos
dos quai s no tm nenhuma l i gao com a procura de enri queci mento
da Nao.
262
Sem dvi da, verdade que as pecul i ari dades f si cas adqui ri das
pel os pai s durante a sua vi da raramente, tal vez mesmo nunca, se trans-
mi tem sua descendnci a. Mas parece no haver moti vo para negar
que os fi l hos de pessoas que ti veram vi da saudvel , f si ca e moral mente,
nascero com uma natureza mai s vi gorosa do que a que teri am se
seus pai s ti vessem cresci do em condi es mal ss, capazes de enfraque-
MARSHALL
299
262 O homem, com os di versos moti vos que o movem, assi m como pode encorajar o desenvol -
vi mento de uma determi nada pecul i ari dade tambm pode i mpedi r o cresci mento de outra.
A l enti do do progresso durante a I dade Mdi a foi devi da, em parte, a um del i berado
horror ao estudo.
cer seu esp r i to e seu cor po. ver dade que no pr i mei r o caso, as
cr i anas, uma vez nasci das, ser o mai s bem al i mentadas e mai s
bem-educadas, adqui r i r o i nsti ntos mai s saudvei s; e ter o par a
com os outr os mai or r espei to e amor -pr pr i o, que consti tuem as
mol as do pr ogr esso humano.
263
necessr i o ento que pr ocur emos exami nar cui dadosamente
se a or gani zao i ndustri al atual no poder i a ser modi fi cada van-
tajosamente, de modo a aumentar as opor tuni dades que tm as ca-
tegor i as i nfer i or es da i ndstri a de uti l i zar as facul dades mentai s
l atentes, de se compr azer nessa uti l i zao, e de, pel o seu uso, for -
tal ec-l as. O ar gumento segundo o qual uma tal tr ansfor mao, se
fosse vantajosa, j se ter i a oper ado atr avs da l uta pel a vi da deve
ser consi der ado i nsufi ci ente. uma das pr er r ogati vas do homem
exer cer um contr ol e l i mi tado, por m efi caz, sobr e o desenvol vi mento
natur al , por mei o da pr evi so do futur o, que l he per mi te abr i r ca-
mi nho par a o pr xi mo passo.
Assi m, o progresso pode ser apressado pel o pensamento e pel o
trabal ho; pel a apl i cao de pri nc pi os eugni cos mel hori a da raa,
supri da de conti ngentes popul aci onai s pel as camadas mai s al tas antes
do que pel as mai s bai xas, e por uma educao apropri ada s facul dades
de ambos os sexos. Mas, por mai s que seja esti mul ado, o progresso
deve ser gradual e rel ati vamente l ento. Deve ser l ento em rel ao ao
poder crescente do homem sobre a tcni ca e as foras da natureza,
um poder que cada vez exi ge mai s coragem e cautel a, mai ores recursos
e mai or constnci a, mai or perspi cci a e vi so mai s ampl a. E tambm
no deve ser demasi ado l ento, de modo a poder acompanhar a rpi da
sucesso de novos si stemas propostos para a rpi da reorgani zao da
soci edade sobre novas bases. De fato, nosso recente dom ni o sobre a
natureza, ao mesmo tempo que permi te que se estabel eam organi za-
es i ndustri ai s mui to mai ores do que era fi si camente poss vel al guns
poucos anos atr s, aumenta as r esponsabi l i dades dos que advogam
novos r umos par a a estr utur a soci al e i ndustr i al . Poi s embor a as
i nsti tui es possam ser tr ansfor madas r api damente, se el as pr eten-
dem per manecer pr eci so que sejam adequadas ao homem: no
podem manter sua estabi l i dade, se se modi fi cam mai s r api damente
do que el e. Assi m, o pr pr i o pr ogr esso aumenta a ur gnci a de se
OS ECONOMISTAS
300
263 Consi deraes dessa espci e tm pouca apl i cao em rel ao ao desenvol vi mento de ani mai s
como os ratos, e nenhuma em rel ao a ervi l has e outros vegetai s. Assi m, os maravi l hosos
resul tados matemti cos que foram estabel eci dos, pel o menos provi sori amente, em rel ao
heredi tari edade nesses casos, tm pouca rel ao com os probl emas da heredi tari edade
pel os quai s os estudantes de Ci nci as Soci ai s se i nteressam. So um tanto arbi trri as as
asseres negati vas fei tas sobre o assunto por emi nentes adeptos da teori a de Mendel .
Observaes excel entes a esse respei to encontram-se em Wealth and Welfare, Parte Pri mei ra,
cap. I V, do prof. Pi gou.
l evar em consi der ao a adver tnci a de que no mundo econmi co
Natura non facit saltum.
O progresso deve ser l ento mas, mesmo de um ponto de vi sta
puramente materi al , preci so que nos l embremos de que as modi fi -
caes que aumentam apenas a efi ci nci a i medi ata da produo val em
a pena ser fei tas, caso faam com que a humani dade se torne mai s
apta a receber uma organi zao mai s efi caz na produo de ri quezas
e mai s eqi tati va na sua di stri bui o; e de que todo si stema que permi te
que se desperdi cem as facul dades superi ores das categori as i nferi ores
da i ndstri a deve ser encarado com suspei o.
MARSHALL
301
CAPTULO IX
Organizao Industrial (Continuao) Diviso do
Trabalho A Influncia da Maquinaria
1. A pri mei ra condi o de uma organi zao efi ci ente da i nds-
tri a que mantenha cada empregado no trabal ho para que esteja ca-
paci tado por suas apti des e preparo a desempenh-l o bem, e que o
equi pe com as mel hores mqui nas e os mel hores i nstrumentos para
sua tarefa. Dei xemos de l ado, no momento, a di stri bui o do trabal ho
entre os que se encarregam dos detal hes de produo, por um l ado, e,
por outro, dos que di ri gem a organi zao geral e assumem os ri scos,
e l i mi temo-nos di vi so do trabal ho entre as di ferentes cl asses de
operri os, referi ndo-nos especi al mente i nfl unci a da maqui nari a. No
cap tul o segui nte consi deraremos os efei tos rec procos da di vi so do
trabal ho e da l ocal i zao da i ndstri a; num tercei ro cap tul o estuda-
remos em que medi da as vantagens da di vi so do trabal ho dependem
da concentrao de grandes capi tai s nas mos de i ndi v duos ou em-
presas, ou, como se di z comumente, da produo em l arga escal a; e,
por l ti mo, exami naremos a crescente especi al i zao do trabal ho na
admi ni strao de empresas.
A todo mundo fami l i ar o fato de que a prti ca l eva perfei o,
i sto , que permi te real i zar, num tempo e com esforo rel ati vamente
pequenos, uma operao que a pri nc pi o pareci a di f ci l , e at mui to
mel hor que dantes; a fi si ol ogi a expl i ca, em certa medi da, esse fato.
Poi s el a d moti vos para acredi tar que a mudana devi da ao gradual
nasci mento de novos hbi tos, de ao automti ca ou mai s ou menos
refl exa. Aes perfei tamente refl exas, como a de respi rar durante o
sono, efetuam-se por mei o dos centros nervosos l ocai s, sem nenhuma
l i gao com a suprema autori dade central do pensamento, que se supe
resi di r no crebro. Mas todos os movi mentos del i berados requerem a
ateno da pri nci pal autori dade central : esta recebe i nformaes dos
centros nervosos ou autori dades l ocai s e tal vez, em al guns casos, di -
retamente dos nervos sensi ti vos, e devol ve i nstrues detal hadas e
303
compl exas s autori dades l ocai s, ou em al guns casos di retamente aos
nervos muscul ares, e assi m coordena suas aes de forma que produzam
os resul tados requeri dos.
264
A base fi si ol gi ca do trabal ho puramente mental ai nda no
bem conheci da, mas o pouco que sabemos do cresci mento da estrutura
do crebro parece i ndi car-nos que a prti ca, em qual quer ordem de
pensamento, faz nascer rel aes novas entre as di ferentes partes do
crebro. Seja como for, sabemos posi ti vamente que a prti ca permi te
a uma pessoa resol ver prontamente, e sem nenhum esforo consi de-
rvel , questes que ai nda h pouco el a no podi a tratar seno mui to
i mperfei tamente, mesmo com mai or esforo. A mente de um comer-
ci ante, de um juri sta, de um mdi co, de um homem de ci nci a, se
torna paul ati namente aparel hada com certa massa de conheci mentos
e facul dade de i ntui o, que um poderoso pensador no poderi a obter
seno por uma cont nua apl i cao dos mel hores esforos por mui tos
anos numa cl asse de questes mai s ou menos l i mi tada. Natural mente
a mente no pode trabal har ri gorosamente mui tas horas por di a num
mesmo senti do, e um homem que trabal ha mui to encontra freqente-
mente di strao num trabal ho que no pertence ao seu of ci o, mas que
fati gari a bastante uma pessoa que o exercesse o di a i ntei ro.
Al guns reformadores soci ai s tm na verdade sustentado que os
que real i zam os mai s i mportantes trabal hos cerebrai s podi am fazer
OS ECONOMISTAS
304
264 Por exempl o, a pri mei ra vez que um homem ensai a pati nar deve prestar mui ta ateno
para manter o equi l bri o, seu crebro deve exercer um control e di reto sobre cada movi mento,
e no l he resta mui ta energi a mental para outras coi sas. Mas depoi s de bastante prti ca,
a ao se torna semi -automti ca, os centros nervosos l ocai s efetuam quase todo o trabal ho
de regul ar os mscul os, o crebro fi ca l i vre e o homem pode ter outra ordem de pensamentos;
el e pode mesmo al terar a sua rota para evi tar um obstcul o no cami nho, ou recompor o
seu equi l bri o afetado por um rel evo do sol o, sem i nterromper em nada o curso dos seus
pensamentos. Parece que o exerc ci o da fora nervosa, sob o poder i medi ato da facul dade
de pensar que resi de no crebro, construi u aos poucos uma sri e de conexes, i mpl i cando
provavel mente uma troca f si ca, entre os nervos e os centros nervosos rel aci onados; e essas
novas l i gaes podem ser consi deradas uma espci e de capi tal de fora nervosa. H pos-
si vel mente al guma coi sa semel hante a uma burocraci a organi zada dos centros nervosos
l ocai s: a medul a, a espi nha dorsal e os gngl i os mai ores tm geral mente o papel de auto-
ri dades provi nci ai s, competentes depoi s de certo tempo para regul ar as autori dades dos
di stri tos e vi l as, sem i ncomodar o governo supremo. Mui to provavel mente el es envi am
rel atos do que se passa: mas se nada acontece fora da normal i dade, d-se-l hes pouca
ateno. Quando, no entanto, preci so l evar a efei to uma ao nova como, por exempl o,
pati nar de costas, toda a fora do pensamento requi si tada no momento e poder agora,
com a ajuda da organi zao especi al de pati nar dos nervos e centros nervosos, que se
formou ao pati nar de modo comum, fazer o que teri a si do i mposs vel sem a di ta ajuda.
Para tomar um exempl o mai s al to: quando um arti sta est pi ntando nos seus mel hores
momentos, seu crebro est i ntei ramente absorvi do no trabal ho: toda a sua fora mental
est vol tada para i sso e o esforo demasi ado grande para ser manti do durante mui to
tempo. Em poucas horas de fel i z i nspi rao, el e pode dar expresso a pensamentos que
exeram uma i nfl unci a sens vel sobre o carter das geraes vi ndouras. Mas sua capaci dade
de expresso foi ganha por horas i numervei s de trabal ho perseverante, no qual el e pau-
l ati namente estabel eceu uma nti ma l i gao entre os ol hos e a mo, o bastante para ha-
bi l i t-l o a fazer bons esforos de coi sas que l he so fami l i ares, mesmo enquanto toma parte
em uma conversa absorvente e quase no tem consci nci a de ter um l pi s na sua mo.
tambm uma boa tarefa de trabal ho manual sem di mi nui r a sua apti do
de adqui ri r novos conheci mentos e de resol ver questes di f cei s. Mas
a experi nci a tem mostrado que o mel hor al vi o para a fadi ga so
ocupaes escol hi das conforme o estado de esp ri to do momento e aban-
donadas to l ogo este passe, i sto , aqui l o que o i nsti nto popul ar cl as-
si fi ca de di strao. Qual quer ocupao que seja to pareci da a uma
tarefa profi ssi onal que uma pessoa tem s vezes que obri gar-se a si
mesma pel a fora de vontade desgasta a sua fora nervosa e no
uma di strao perfei ta, e, por consegui nte, no econmi ca do ponto
de vi sta da col eti vi dade, a no ser que seu val or seja sufi ci ente para
compensar o dano causado ao trabal ho pri nci pal .
265
2. uma questo di f ci l e ai nda no resol vi da a de saber at
onde deve ser l evada a especi al i zao nas categori as mai s al tas do
trabal ho. Na ci nci a parece ser uma regra comprovada que os estudos
sejam gerai s durante a juventude e se especi al i zem gradual mente com
o correr dos anos. Um mdi co que sempre teve sua ateno vol tada
excl usi vamente para uma cl asse de doenas pode dar um consel ho
menos avi sado, mesmo na sua especi al i dade, do que um outro que,
tendo aprendi do atravs de l arga experi nci a a consi derar tai s mol s-
ti as em rel ao com a sade i ntegral , aos poucos concentrou o seu
estudo mai s e mai s sobre el as, e acumul ou um grande nmero de
experi nci as parti cul ares e de suti s i ntui es. Mas no h dvi da de
que, nas ocupaes em que h mui ta necessi dade de mera habi l i dade
manual , uma efi ci nci a l argamente desenvol vi da se pode ati ngi r atra-
vs da di vi so do trabal ho.
Adam Smi th observou que um rapaz que nada mai s tem fei to
na vi da que pregos pode faz-l os duas vezes mai s l i gei ro que um ferrei ro
de pri mei ra cl asse que s ocasi onal mente cui de de fabri c-l os. Quem
quer que tenha que executar exatamente a mesma sri e de operaes
di a aps di a, em coi sas que tenham exatamente a mesma forma, pouco
a pouco aprende a mover os seus dedos preci samente como convm,
em ao quase automti ca, e com rapi dez mai or do que seri a poss vel
se cada movi mento ti vesse que esperar por uma del i berada i nstruo
da vontade. Um exempl o corrente di sso a rapi dez com que as cri anas
atam os fi os numa fi ao de al godo. E ai nda, numa fbri ca de roupas
ou de sapatos, uma pessoa que cose, seja a mo ou a mqui na, sempre
MARSHALL
305
265 J. S. Mi l l chegou at a sustentar que suas ocupaes no I ndia Office no prejudi cavam
em nada seus estudos fi l osfi cos. Mas parece provvel que esse desvi o das suas facul dades
mai s cri adoras empobreceu a qual i dade do seu mel hor pensamento mai s do que el e se
apercebeu; e embora os consi dervei s servi os que prestou sua poca no se ti vessem
reduzi do seno mui to pouco, teri a si do afetada a sua capaci dade para real i zar aquel a
espci e de trabal ho que i nfl uenci a o curso do pensamento nas futuras geraes. Foi poupando
cada tomo da sua reduzi da energi a f si ca que Darwi n pde real i zar tanto trabal ho dessa
natureza: um reformador soci al que ti vesse aprovei tado as horas de l azer de Darwi n num
trabal ho di to ti l para a col eti vi dade teri a fei to para esta um mau negci o.
a mesma costura, ora num pedao de pel e, ora num pano do mesmo
tamanho, hora aps hora, di a aps di a, capaz de o executar com mui to
menos esforo e mui to mai s rapi damente que um operri o de mai or gol pe
de vi sta e destreza, e de um preparo mui to mai s el evado, que esti vesse
habituado a fazer uma roupa ou um sapato inteiramente.
266
Do mesmo modo, nas i ndstri as da madei ra e do metal , se um
homem real i za exatamente as mesmas operaes i ncessantemente so-
bre a mesma pea, el e adqui re o hbi to de tom-l a da manei ra que
conveni ente, e de arrumar os i nstrumentos e outras coi sas a manejar,
em posi es tai s que possa mobi l i z-l os um aps outro com a menor
perda poss vel de tempo e de energi a nos movi mentos do seu prpri o
corpo. Habi tuado a encontr-l os sempre na mesma ordem, suas mos
trabal ham uma em harmoni a com a outra, quase automati camente; e
com o aumento da prti ca seu gesto de fora nervosa di mi nui ai nda
mai s rapi damente que o da fora muscul ar.
Mas quando a ao foi desse modo reduzi da mera roti na, apro-
xi mou-se do estgi o em que pode ser fei ta pel a mqui na. A pri nci pal
di fi cul dade a vencer permi ti r mqui na ter o objeto exata e fi rme-
mente na posi o em que a mqui na-ferramenta possa apl i car-se a el e
de forma correta e sem perder mui to tempo em agarr-l o. I sso geral -
mente pode ser concebi do quando val er a pena consagrar trabal ho e
despesa para esse fi m; e ento toda a operao pode ser di ri gi da por
um s operri o que, sentado di ante da mqui na, pega com a mo es-
querda um pedao de madei ra ou de metal de uma pi l ha e o col oca
numa cavi dade, enquanto com a di rei ta el e abai xa uma al avanca ou
por qual quer outro mei o pe a mqui na a funci onar, e fi nal mente com
sua mo esquerda el e pe em outra pi l ha o materi al que foi cortado,
perfurado, gravado ou apl ai nado, de acordo com um dado model o.
sobretudo nessas i ndstri as que vemos os rel atri os dos si ndi catos tra-
bal hi stas se quei xarem de que operri os sem habi l i tao e mesmo suas
mul heres e fi l hos so col ocados em servi os que exi gi ri am a habi l i dade
e o conheci mento de um experi mentado mecni co, mas que foram re-
OS ECONOMISTAS
306
266 As roupas mel hores e mai s caras so confecci onadas por al fai ates de grande habi l i dade e
bem remunerados, cada um del es se encarregando i ntei ramente de uma pea do vesturi o,
e depoi s de outra; enquanto as roupas baratas e pi ores so fei tas medi ante sal ri os de
fome por mul heres sem habi l i tao, que em suas prpri as casas fazem el as mesmas todas
as partes da costura. Mas as roupas de qual i dade i ntermedi ri a so fei tas em ofi ci nas ou
fbri cas, nas quai s a di vi so e a subdi vi so do trabal ho so l evadas to l onge quanto o
permi ti r o pessoal de que se di spe; e esse mtodo rapi damente ganha terreno nos doi s
extremos, custa dos anti gos. Lorde Lauderdal e (I nquiry. p. 282) ci ta o argumento de
Xenofonte, de que o mel hor trabal ho fei to por quem se l i mi ta a uma ni ca ati vi dade, e
quando um homem faz sapatos para homens, e outro para mul heres; ou mel hor, quando
um s faz costurar sapatos e roupas, e outro os corta; a cozi nha do rei mui to mel hor
que qual quer outra, porque el e tem um cozi nhei ro que s faz carne cozi da e outro que s
faz assados; um que s cozi nha pei xe, e outro que s o fri ta: no h apenas um homem
para todas as espci es de po, mas um especi al i sta para os ti pos especi ai s.
duzi dos a mera roti na pel o progresso da maqui nari a e a sempre cres-
cente atomi zao da subdi vi so do trabal ho.
3. I sso nos l eva a uma regra geral , cuja ao mai s pronunci ada
em al guns ramos da manufatura do que em outros, mas que se apl i ca
a todos. que qual quer operao fabri l que possa ser reduzi da uni -
formi dade, de modo que tenha que fazer-se a mesma coi sa i nmeras
vezes da mesma manei ra, ser com certeza, mai s cedo ou mai s tarde,
executada pel a mqui na. Pode haver retardamento e di fi cul dades, mas
se o trabal ho a ser fei to por el a de uma escal a sufi ci ente, o di nhei ro
e a capaci dade i nventi va sero apl i cados sem reserva at que a tarefa
seja real i zada.
267
Assi m os doi s movi mentos do aperfei oamento da maqui nari a e
da crescente subdi vi so do trabal ho marcharam paral el amente e esto
de certo modo rel aci onados entre si . Mas a rel ao no to estrei ta
como geral mente se supe. A extenso dos mercados, a crescente pro-
cura de grande nmero de coi sas da mesma espci e e, em al guns casos,
de coi sas fabri cadas com grande preci so so as pri nci pai s causas da
subdi vi so do trabal ho; o efei to pri nci pal do progresso da mqui na
baratear e tornar mai s preci so o trabal ho que, de qual quer sorte, seri a
subdi vi di do. Por exempl o,
organi zando as ofi ci nas de Soho, Boul ton e Watt acharam ne-
cessri o l evar a di vi so do trabal ho ao extremo prati cvel . No
havi a tornos mecni cos, mqui nas de apl ai nar ou de perfurar
como os que hoje tornam o ri gor da construo mecni ca uma
coi sa quase exata. Tudo dependi a da habi l i dade mecni ca i ndi -
vi dual da mo e da vi sta, embora os mecni cos geral mente fossem
ento mui to menos hbei s do que hoje. O mei o pel o qual Boul ton
e Watt consegui ram vencer parci al mente as di fi cul dades foi o de
restri ngi r seus operri os a cl asses especi ai s e faz-l os to ex mi os
MARSHALL
307
267 Um grande i nventor consta ter despendi do 300 mi l l i bras em experi nci as rel ati vas a
mqui nas txtei s, e di z-se que seu gasto foi abundantemente recompensado. Al gumas das
suas i nvenes eram de tal natureza que s poderi am ter si do real i zadas por um homem
de gni o; e embora fossem mui to necessri as ti nham que esperar pel o homem capaz de
torn-l as conheci das. El e pedi u, no sem razo, 1 000 l i bras de di rei tos de patente para
cada uma das suas mqui nas de cardar; e um fabri cante de l fi ada, sobrecarregado de
servi o, achou vantagem comprar uma mqui na adi ci onal e pagar por el a essa soma extra,
apenas sei s meses antes de expi rar a patente. Mas tai s casos so excepci onai s: em regra,
as mqui nas patenteadas no so mui to caras. Em al guns casos a economi a em produzi r
todas el as num mesmo l ugar com maqui nari a especi al to grande, que o i nventor acha
vantagem em vend-l as a preo mai s bai xo que o das mqui nas i nferi ores que el as subs-
ti tu ram: poi s esse anti go preo l he dari a um l ucro to grande, que era mai s vantajoso
abai xar o preo a fi m de i ntroduzi r o uso da mqui na em novas apl i caes e em novos
mercados. Em quase todas as i ndstri as mui tas coi sas so fei tas a mo, embora seja bem
sabi do que el as poderi am ser fei tas, medi ante al gumas adaptaes, por mqui nas j em
uso na mesma ou em outras i ndstri as, e que apenas no so fei tas mecani camente porque
as mqui nas no teri am emprego sufi ci ente para remunerar o esforo e a despesa para
fabri c-l as.
nel as quanto poss vel . Pel o cont nuo exerc ci o no manejo dos mes-
mos i nstrumentos e no fabri co dos mesmos arti gos, el es adqui -
ri ram ento uma grande profi ci nci a i ndi vi dual .
268
Assi m, a mqui na constantemente supl anta e torna desnecessri a
a habi l i dade puramente manual , cuja aqui si o, mesmo no tempo de
Adam Smi th, era a pri nci pal vantagem da di vi so do trabal ho. Mas
essa i nfl unci a mai s do que contrabal anada pel a sua tendnci a de
aumentar a escal a dos estabel eci mentos manufaturei ros e faz-l os mai s
compl exos; e poi s a aumentar as oportuni dades para a di vi so do tra-
bal ho de todos os gneros, especi al mente no terreno da admi ni strao
das empresas.
4. As possi bi l i dades de a maqui nari a fazer trabal hos que exi gem
por demai s preci so para serem fei tos manual mente se destacam tal vez
mel hor nos ramos das i ndstri as metal rgi cas nos quai s se desenvol veu
rapi damente o si stema das peas padroni zadas e substi tu vei s. S de-
poi s de l onga prti ca, e com mui to cui dado e trabal ho, pode a mo
fazer uma pea de metal que ri gorosamente se i gual e ou se encai xe
em outra; e, ai nda assi m, a exati do no ser perfei ta. Preci samente
este o servi o que uma boa mqui na pode fazer com a mai or faci l i dade
e perfei o. Por exempl o, se as semeadei ras e as cei fadei ras ti vessem
que ser fei tas a mo, seu preo de compra seri a mui to al to; e quando
qual quer pea se quebrasse, s seri a substi tu da a um grande custo,
devol vendo-se a mqui na ao fabri cante, ou fazendo-se vi r um mecni co
mui to hbi l . Mas, atual mente, o fabri cante tem em estoque mui tos
exempl ares da pea quebrada, fei tos pel a mesma mqui na e poi s per-
mutvei s por el a. Um fazendei ro no noroeste da Amri ca, tal vez a cem
mi l has de qual quer boa ofi ci na mecni ca, pode usar tranqi l amente
uma compl i cada mqui na, poi s sabe que, tel egrafando o nmero da
mqui na e da pea quebrada, pel o prxi mo trem l he chegar uma nova
pea que el e mesmo poder ajustar no l ugar. A i mportnci a desse
pri nc pi o das peas i ntercambi vei s s recentemente teve o devi do re-
conheci mento; mas provvel que essa i novao contri bua mai s que
qual quer outra para estender o uso das mqui nas fei tas mecani camente
a todos os ramos da produo, i ncl usi ve mesmo o trabal ho domsti co
e agr col a.
269
As i nfl unci as que a mqui na exerce sobre o carter da i ndstri a
moderna so bem i l ustradas pel a manufatura de rel gi os. Al guns anos
atrs, a pri nci pal sede desse fabri co era a Su a francesa, onde a sub-
OS ECONOMISTAS
308
268 SMI LES. Boulton and Watt. pp. 170-171.
269 O si stema deve sua ori gem em grande parte s escal as-padro de Si r Joseph Whi tworth;
mas na Amri ca que foi desenvol vi do com mai s i ni ci ati va e ampl i tude. A padroni zao
mai s ti l com respei to a coi sas empregadas na construo de mqui nas compl exas, edi f ci os,
pontes etc.
di vi so do trabal ho foi l evada mui to l onge, embora uma grande parte
do trabal ho fosse fei ta por uma popul ao mai s ou menos di spersa.
Havi a cerca de ci nqenta ramos di sti ntos, cada um del es fazendo uma
pequena parte da obra. Em quase todos se exi gi a um preparo manual
al tamente especi al i zado, mas bem pouco di scerni mento; os ganhos eram
geral mente bai xos, porque a i ndstri a estava montada h mui to tempo
para os seus art fi ces terem um como que monopl i o, e nem havi a
di fi cul dade em i ntroduzi r no servi o uma cri ana de i ntel i gnci a co-
mum. Mas essa i ndstri a hoje est cedendo terreno ao si stema ame-
ri cano de fabri car rel gi os mecani camente, o qual requer habi l i dade
manual mui to pouco especi al i zada. De fato, cada ano a mqui na vai
se tornando mai s e mai s automti ca, exi gi ndo sempre menos a assi s-
tnci a da mo do homem. Quanto mai s del i cada, porm, a mqui na,
mai or o di scerni mento e a ateno necessri os aos que a operam. To-
memos, por exempl o, uma bel a mqui na que numa extremi dade se
al i menta de fi o de ao, e noutra entrega pequenos parafusos de forma
apri morada: el a di spensa um grande nmero de operri os que na ver-
dade ti nham adqui ri do uma habi l i dade manual mui to el evada e espe-
ci al i zada, mas que vi vi am sedentari amente, esgotando a vi sta atravs
de mi croscpi os, e no encontrando no seu trabal ho objeti vo para ne-
nhuma facul dade exceto um mero dom ni o no uso dos dedos. Mas a
mqui na compl i cada e custosa, e a pessoa que a maneja deve ter
i ntel i gnci a e um vi vo senti mento de responsabi l i dade, que mui to con-
correm para a formao de um carter superi or, qual i dades que ai nda
so mui to raras, apesar de mai s freqentes que dantes, de sorte que
fazem jus percepo de um al to sal ri o. Sem dvi da, esse um caso
extremo, sendo mui to mai s si mpl es a mai or parte do trabal ho em uma
fbri ca de rel gi os. Contudo, mui to del e exi ge qual i dades mai s el evadas
que o si stema anti go, e os empregados ganham em mdi a sal ri os
al tos; ao mesmo tempo, o processo atual j pe o preo de um rel gi o
de confi ana ao al cance das cl asses mai s pobres, e parece poder em
breve real i zar trabal hos da mai s al ta cl asse.
270
Os que acabam e renem as di ferentes partes de um rel gi o
devem sempre possui r uma habi l i dade mui to especi al i zada, mas a mai o-
ri a das mqui nas em uso numa fbri ca de rel gi os no di fere no seu
carter geral das usadas em outras i ndstri as metal rgi cas mai s l eves:
de fato, mui tas del as so meras modi fi caes de tornos, mqui nas de
abri r ranhuras, perfurar, apl ai nar, prensar e l ami nar comuns a todas
as i ndstri as mecni cas. Esse um bom exempl o de que, enquanto se
MARSHALL
309
270 A perfei o j ati ngi da pel a mqui na demonstrada pel o fato de que na Exposi o de
I nvenes de Londres, em 1885, o representante de uma fbri ca ameri cana de rel gi os
desmontou ci nqenta rel gi os di ante de al guns representantes i ngl eses do vel ho si stema
de fabri cao, e depoi s de amontoar tudo em di versas pi l has, pedi u-l hes para escol her uma
pea de cada monte, e ento as col ocou numa cai xa de rel gi o, devol vendo-l hes um rel gi o
em perfei to estado.
opera um constante aumento da subdi vi so do trabal ho, mui tas das
l i nhas di vi sri as entre i ndstri as que so nomi nal mente di sti ntas se
fazem cada di a menos marcantes e mai s fcei s de transpor. Anti ga-
mente, teri a si do de pouco consol o para os rel ojoei ros, quando aconteci a
sofrerem uma reduo na procura de seus arti gos, se l hes di ssessem
que os fabri cantes de armas estavam preci sando de mo-de-obra extra;
mas hoje a mai ori a dos operri os de uma fbri ca de rel gi os encontrari a
mqui nas mui to semel hantes s que esto acostumados a uti l i zar, se
se desvi assem para uma fbri ca de armas ou de mqui nas de costura,
ou, ai nda, de mqui nas de tecel agem. Uma fbri ca de rel gi os, com
todos os que nel a trabal ham, pode ser converti da sem grande perda
numa fbri ca de mqui nas de costura; quase a ni ca condi o seri a
de que ni ngum passasse a trabal har na nova fbri ca em um trabal ho
que exi gi sse um n vel de i ntel i gnci a geral mai s el evado do que o
requeri do pel a tarefa a que j se acostumara.
5. A i ndstri a grfi ca fornece outro exempl o da forma como
um aperfei oamento da maqui nari a e um aumento do vol ume da pro-
duo causam uma subdi vi so mi nuci osa do trabal ho. Todos conhecem
o pi onei ro di retor de jornal das regi es recm-col oni zadas da Amri ca,
que faz a composi o ti pogrfi ca dos seus arti gos medi da que os
concebe, e com a ajuda de um pequeno aprendi z i mpri me suas fol has
e as di stri bui aos seus esparsos vi zi nhos. Quando ai nda era recente o
mi stri o da i mpresso, o i mpressor ti nha que fazer tudo por si , e,
ai nda por ci ma, fabri car at os seus i nstrumentos de trabal ho.
271
Estes
l he so agora forneci dos por i ndstri as subsi di ri as, das quai s mesmo
o i mpressor que esteja estabel eci do em l ugares i sol ados pode obter o
de que preci sar. Mas, a despei to da assi stnci a que recebe de fora, um
grande estabel eci mento grfi co encontra l ugar para acomodar mui tas
cl asses di ferentes de trabal hadores entre as suas paredes. Sem contar
os que organi zam e superi ntendem o negci o, os que fazem servi o de
escri tri o e al moxari fado, os hbei s revi sores que corri gem quai squer
erros que tenham as provas, os maqui ni stas e reparadores de mqui nas,
os que fundem, os que corri gem e preparam as pl acas de estereoti pi a;
os armazeni stas, os rapazes e moas que os auxi l i am, e outros vri os
empregos de menor categori a; exi stem tambm os doi s grupos de l i -
noti pi stas que compem os ti pos, e os operadores das mqui nas e en-
carregados das i mpressoras que os i mpri mem. Cada um desses doi s
grupos est di vi di do em mui tos grupos menores, especi al mente nos
mai ores centros da i ndstri a grfi ca. Em Londres, por exempl o, um
OS ECONOMISTAS
310
271 "O fundi dor de ti pos foi provavel mente o pri mei ro a separar-se do negci o de i mprensa;
em segui da, os i mpressores encarregaram outros de fazerem i mpressoras; depoi s a ti nta
e os rol os foram fabri cados por manufaturas separadas e di sti ntas; e surgi u uma categori a
de pessoas que, pertencendo a outras i ndstri as, fi zeram dos utens l i os de i mpresso uma
especi al i dade, tai s como os forjadores, marcenei ros e maqui ni stas de ti pografi a." (Southward,
no verbete Typography da Encyclopaedia Britannica.)
operador habi tuado a um ti po de mqui na ou um l i noti pi sta acostumado
a um ti po de trabal ho, perdendo o emprego, no abandonari a vol un-
tari amente a vantagem do seu preparo especi al i zado, procurando em-
prego noutro gnero de trabal ho ou em mqui na di ferente, val endo-se
do seu conheci mento geral do ramo.
272
Essas barrei ras entre di mi nutas
subdi vi ses de uma i ndstri a ocupam um i mportante l ugar em mui tas
apreci aes da tendnci a moderna para a especi al i zao da i ndstri a;
e em certa medi da com razo, embora mui tas del as sejam to di mi nutas
que um homem, dei xando uma subdi vi so, pode passar para uma das
vi zi nhas sem grande perda de efi ci nci a, se bem no o faa sem antes
procurar emprego na sua vel ha especi al i dade; e assi m as barrei ras so
to efeti vas como as que mai s fortemente o forem, no que se refere s
fl utuaes menor es, de uma semana par a outr a, na i ndstr i a. Mas
so de natur eza total mente di ver sa das pr ofundas e extensas sepa-
r aes que di vi di am um gr upo de ar tesos medi evai s de outr o, e
que l evavam o tecel o a pr i vaes por toda a vi da quando di spensado
de seu of ci o.
273
Nas artes grfi cas, como na i ndstri a rel ojoei ra, vemos a apare-
l hagem mecni ca e ci ent fi ca al canando resul tados que sem el a seri am
i mposs vei s; ao mesmo tempo, el a executa trabal hos que exi gi am ha-
MARSHALL
311
272 Di z-nos Southward, por exempl o, que um maqui ni sta pode entender apenas de mqui nas
de l i vros ou s de mqui nas de jornai s; pode saber tudo sobre as mqui nas que i mpri mem
em superf ci es pl anas ou as que i mpri mem em ci l i ndros; ou pode conhecer apenas um
ti po de ci l i ndro. Mqui nas i ntei ramente novas cri am uma nova cl asse de operri os. H
homens perfei tamente competentes para o manejo de uma i mpressora Wal ter, mas i gno-
rantes de como manobrarem uma para duas cores ou para servi o fi no de l i vro. No depar-
tamento da composi o, a di vi so do trabal ho l evada a um ponto ai nda mai s mi nuci oso.
Um i mpressor anti ga compori a i ndi ferentemente um cartaz, um t tul o ou um l i vro. Atual -
mente, temos as mos para servi os gerai s, as mos para l i vros e as mos para jornai s, a
pal avra mo i ndi cando a natureza fabri l do servi o. H mos que se l i mi tam aos cartazes.
As mos para l i vros compreendem as que compem os t tul os e as que compem o texto da
obra. Entre estes l ti mos, ai nda, enquanto um compe, outro, o pagi nador, arruma as pgi nas.
273 Si gamos mai s al m o progresso da mqui na em supl antar o trabal ho manual em al gumas
di rees e abri ndo novos campos para o seu emprego em outras. Exami nemos o processo
pel o qual grandes edi es de um jornal so compostas e i mpressas em poucas horas. Para
comear, boa parte da composi o fei ta por uma mqui na; mas, de qual quer sorte, os
ti pos i ni ci al mente se col ocam numa superf ci e pl ana que no permi te i mpri mi r rapi damente.
O prxi mo passo grav-l os num papel o, que se ajusta a um ci l i ndro, e ento serve de
mol de para a nova pl aca de metal que, assi m gravada, se adapta aos ci l i ndros da i mpressora.
Fi xada nestes, el a gi ra al ternati vamente sobre os ci l i ndros de ti nta e o papel . O papel est
di sposto num enorme rol o por detrs da mqui na, e se desenrol a automati camente, passando
pri mei ro sobre os ci l i ndros de umedeci mento e depoi s nos de i mpresso, i mpri mi ndo o
pri mei ro destes de um l ado e o segundo do outro: da vai aos ci l i ndros de cortar, que o
cortam em tamanhos i guai s, e em segui da ao aparel ho de dobrar, que o dobra e apronta
para a venda.
Mai s recentemente a fundi o dos ti pos vem sendo fei ta por novos mtodos. O composi tor
ou l i noti pi sta bate num tecl ado semel hante ao da mqui na de escrever, e a matri z da l etra
correspondente se arruma na l i nha: da , depoi s de compl eta a l i nha de matri zes, sobre
esta derramado chumbo derreti do, e uma sl i da l i nha de ti po est pronta. Por um progresso
posteri or, cada l etra fundi da separadamente da sua matri z; a mqui na conta o espao
tomado pel as l etras para, quando compl etam uma l i nha, di vi di r o espao l i vre entre os
pequenos espaos necessri os entre as pal avras; e fi nal mente funde a l i nha. Pretende-se
que cada l i noti pi sta possa trabal har mui tas de tai s mqui nas, si mul taneamente, em ci dades
di versas, pel a corrente el tri ca.
bi l i dade manual e destreza, mas no mui to raci oc ni o, enquanto dei xa
para as mos do homem todas as sortes de novas ocupaes nas quai s
h mui ta necessi dade de di scerni mento. Cada aperfei oamento e ba-
rateamento do materi al de i mpresso aumenta a procura de di scerni -
mento, ponderao e conheci mentos l i terri os para o revi sor, da habi -
l i dade e do gosto dos que sabem como compor um t tul o, ou como
aprontar uma pgi na com uma gravura de manei ra que a l uz e a
sombra fi quem di stri bu das com propri edade. Aumenta a procura de
arti stas bem-dotados e al tamente preparados, que desenhem ou gravem
em madei ra, pedra ou metal , e dos que sabem como dar em dez l i bras
uma not ci a ri gorosa da substnci a de uma pal estra que durou dez
mi nutos faanha i ntel ectual cuja di fi cul dade subesti mamos porque
se real i za freqentemente. E ai nda, tende a aumentar o trabal ho dos
fotgrafos, el etroti pi stas, estereoti pi stas, dos fabri cantes de maqui nari a
de i mpresso, e mui tos outros que conseguem um aperfei oamento
mai or e mai or renda nos seus servi os do que os margeadores, corta-
dores e os dobradores de jornai s que senti am o seu trabal ho mani etado
por dedos e braos de ferro.
6. Podemos passar agora a consi derar os efei tos que a mqui na
produz sobre a di mi nui o do excessi vo esforo muscul ar que, poucas
geraes atrs, era um tri buto pago por mai s de metade dos trabal ha-
dores, mesmo num pa s como a I ngl aterra. Os exempl os mai s mara-
vi l hosos do poder da mqui na se encontram nas grandes ofi ci nas me-
tal rgi cas, especi al mente nas que produzem pl acas de bl i ndagem, onde
a fora a ser empregada to grande que de nada val em os mscul os
humanos, e cada movi mento seja hori zontal , seja verti cal , tem que ser
efetuado pel a fora hi drul i ca ou do vapor, restando ao homem apenas
atender maqui nari a, remover as ci nzas ou real i zar al guma outra
tarefa secundri a.
A maqui nari a desse gnero aumentou o nosso dom ni o sobre a
natureza mas no al terou mui to di retamente o carter do trabal ho
humano; poi s o que el a faz, o homem no fari a sem el a. Mas em outras
i ndstri as, a mqui na tem al i vi ado a l abuta do homem. Os carpi ntei ros,
por exempl o, fazem coi sas da mesma espci e das usadas pel os nossos
avs, com mui to menos fadi ga. El es se entregam presentemente quel as
partes da obra que so mai s agradvei s e i nteressantes; enquanto em
todas as vi l as e quase em todos os vi l arejos se encontram mqui nas
a vapor para serrar, apl ai nar e mol dar, que os l i vram daquel a pesada
fadi ga que, no h mui to tempo, os fazi a prematuramente vel hos.
274
OS ECONOMISTAS
312
274 O cepi l ho usado para al i sar as grandes tbuas para soal hos e outros fi ns causava doenas
do corao, e em regra envel heci a os carpi ntei ros aos quarenta anos. Adam Smi th nos di z
que os trabal hadores, quando l i beral mente pagos, so mui to capazes de se excederem no
trabal ho e de arrui narem a sua sade em poucos anos. Um carpi ntei ro em Londres, e em
al guns outros l ugares, supe-se que no conserva o seu pl eno vi gor por mai s de oi to anos...
Quase toda a cl asse de art fi ces sujei ta a certas enfermi dades especi ai s ocasi onadas por
um excessi vo trabal ho na especi al i dade. (Wealth of Nations. Li vro Pri mei ro. Cap. VI I .)
As novas mqui nas, l ogo que i nventadas, requerem geral mente mui -
to cui dado e ateno. Mas o trabal ho dos seus operadores vai pouco a
pouco se si mpl i fi cando, j que o que se tornava uni forme e montono
passa gradual mente a ser executado pel a mquina, que assi m se torna
mai s e mai s automti ca e com ao prpri a, at que afi nal nada mai s
fi ca para as mos, seno supri r matri a-pri ma a certos i nterval os e receber
a obra quando conclu da. Ai nda resta a responsabi l i dade de ol har para
que a mqui na esteja em ordem e regul ada; contudo, mesmo essa tarefa
freqentemente faci l i tada pel a i ntroduo de um movi mento automti co,
que pra a mqui na, desde que qual quer coi sa vai mal .
Nada podi a ser mai s l i mi tado e montono do que a ocupao de
um tecel o de panos comuns anti gamente. Hoje, uma s mul her poder
di ri gi r quatro ou mai s teares, cada qual fazendo um trabal ho mui tas
vezes mai or do que o de um vel ho tear manual por di a; e seu trabal ho
mui to menos montono e recl ama mui to mai s raci oc ni o. De sorte
que, por cem jardas de pano teci das, o trabal ho puramente montono
fei to por seres humanos no chega provavel mente a uma vi gsi ma
parte do que era anti gamente.
275
Fatos dessa natureza se encontram na hi stri a recente de mui tas
i ndstri as: e so de grande i mportnci a quando se consi dera que a
organi zao moderna da i ndstri a tende a l i mi tar a tarefa de cada
pessoa, e, portanto, torn-l a montona. As i ndstri as nas quai s o tra-
bal ho mai s subdi vi di do so aquel as em que h mai s possi bi l i dade
de ser substi tu do pel a mqui na o pri nci pal esforo muscul ar e, desse
modo, fi ca mui to reduzi do o trabal ho montono. Como di sse Roscher,
a monotoni a da vi da, mai s que a do trabal ho, que preci so temer;
a monotoni a do trabal ho um i nconveni ente de pri mei ra ordem, apenas
quando acarreta a monotoni a da vi da. Agora, quando o emprego da
pessoa requer mui to esforo f si co, el a no capaz para nada depoi s
do trabal ho; e a no ser que suas facul dades mentai s sejam mui to
provocadas no trabal ho, pouca oportuni dade tero de se desenvol verem.
Mas a fora nervosa no mui to exauri da no trabal ho ordi nri o de
uma fbri ca, a menos que o barul ho seja excessi vo e as horas de trabal ho
se prol onguem demai s. O ambi ente soci al da vi da numa fbri ca esti mul a
a ati vi dade mental durante as horas de servi o e fora, e mui tos dos
operri os fabri s, cujas ocupaes so aparentemente as mai s monto-
nas, di spem de mui ta i ntel i gnci a e recursos mentai s.
276
MARSHALL
313
275 O rendi mento do trabal ho na i ndstri a de tecel agem foi aumentado doze vezes e na de
fi ao sei s vezes durante os l ti mos setenta anos. Nos setenta anos precedentes, os aper-
fei oamentos na fi ao havi am aumentado a efi ci nci a do trabal ho em duzentas vezes. (Ver
ELLI SON. Cotton Trade of Great Britain. Cap. I V e V.)
276 As i ndstri as txtei s oferecem tal vez o mel hor exempl o de trabal ho que antes era manual
e agora fei to pel a mqui na. El as so especi al mente i mportantes na I ngl aterra, onde do
emprego a quase mei o mi l ho de homens e a mai s de mei o mi l ho de mul heres, ou mai s
de 1/10 das pessoas que vi vem de sal ri o. O esforo de que so poupados os mscul os
humanos, mesmo trabal hando nesses materi ai s maci os, se mede pel o fato de, para cada
certo que o agri cul tor ameri cano um homem hbi l e que seus
fi l hos sobem rapi damente na vi da. Mas, em parte, porque o sol o
feraz, e el e geral mente o propri etri o da fazenda que cul ti va, suas
condi es soci ai s so mel hores que as dos i ngl eses; sempre teve que
deci di r por si mesmo e h mui to se acostumou a usar e consertar
mqui nas compl exas. O trabal hador agr col a i ngl s tem grandes des-
vantagens a enfrentar. At recentemente ti nha pouca educao, e vi vi a
em grande parte sob um regi me semi feudal , que no dei xava de ter
suas vantagens, mas que repri mi a a i ni ci ati va e mesmo at certo ponto
o amor-prpri o. Essas causas prejudi ci ai s foram removi das. Presente-
mente, recebe boa educao na juventude. Aprende a manejar mqui nas
di versas, menos dependente da boa vontade de al gum propri etri o
rural em parti cul ar ou grupo de fazendei ros; e, uma vez que seu tra-
bal ho mai s vari ado, e educa a i ntel i gnci a mai s do que as categori as
mai s bai xas de trabal hador urbano, el e tende a subi r tanto de modo
absol uto como rel ati vo.
7. Devemos agora consi derar quai s as condi es sob as quai s
podem ser mel hor asseguradas na produo as economi as decorrentes
da di vi so do trabal ho. bvi o que a efi ci nci a da maqui nari a ou da
mo-de-obra especi al i zadas uma condi o do seu emprego; outra con-
di o de que haja servi o sufi ci ente a dar-l hes para que sejam pl e-
namente uti l i zadas. Como assi nal ou Babbage,
277
numa grande fbri ca,
o gerente da fbri ca, di vi di ndo o trabal ho a ser fei to em di ferentes
processos, cada um fazendo mi ster de di versos graus de habi l i dade
OS ECONOMISTAS
314
um desse mi l ho de operri os, se uti l i zar cerca de um caval o-vapor, i sto , cerca de dez
vezes a fora que poderi am empregar se todos fossem homens fortes; e a hi stri a dessas
i ndstri as servi r para l embrar-nos de que mui tos dos que real i zam as partes mai s mo-
ntonas do servi o so, em regra, no trabal hadores qual i fi cados que tenham desci do,
dei xando ati vi dades mai s el evadas, mas trabal hadores sem habi l i tao que ascenderam a
el as. Um grande nmero dos que trabal ham nas fi aes de al godo de Lancashi re proce-
deram de zonas empobreci das da I rl anda, enquanto outros so descendentes de i ndi gentes
e de consti tui o fraca, que para l se di ri gi ram em grande nmero no comeo do scul o
passado, compel i dos pel as mai s mi servei s condi es de vi da nos mai s pobres di stri tos
agr col as, onde os trabal hadores eram al bergados e al i mentados quase pi or do que os
ani mai s de que cui davam. E ai nda, embora haja quei xa de que os trabal hadores das fbri cas
de al godo da Nova I ngl aterra no tenham o al to n vel de cul tura que entre el es preval eci a
h um scul o, devemos l embrar que os descendentes desses anti gos obrei ros ati ngi ram os
postos de mai or preemi nnci a e responsabi l i dade e i ncl uem mui tos dos mai s capazes e
ri cos ci dados da Amri ca. Os que ocuparam os seus l ugares esto em processo de el evao;
so notadamente franco-canadenses e i rl andeses, que, embora possam vi r a adqui ri r nos
seus novos ambi entes al guns dos v ci os da ci vi l i zao, esto, no entanto, mui to mel hor de
vi da e em suma com mel hores oportuni dades de desenvol ver suas mai s fi nas qual i dades
e as dos seus fi l hos, do que se esti vessem nos seus vel hos l ares.
277 Charl es Babbage (1792-1871), matemti co e i nventor i ngl s, autor de um Tratado de Eco-
nomia das Mquinas e das Manufaturas (1832). Parti ci pou do desenvol vi mento da l gi ca
matemti ca na I ngl aterra e pode ser consi derado um dos precursores da i nformti ca mo-
derna, tendo concebi do mqui nas de cal cul ar que combi navam as possi bi l i dades de uma
cal cul adora e de uma mqui na de cartes perfurados (conheci da no Brasi l como mqui na
Hol l eri th). (N. dos T.)
ou for a, pode adqui r i r exatamente aquel a quanti dade pr eci sa
de cada uma, necessr i a par a cada pr ocesso; enquanto, se todo
o tr abal ho fei to por um s, o homem pr eci sa possui r a ha-
bi l i tao sufi ci ente par a r eal i zar a mai s di f ci l , e for a bastante
par a executar a mai s l abor i osa das oper aes nas quai s o ser -
vi o se di vi de.
A economi a da produo requer no s que cada pessoa seja ocupada
constantemente numa l i mi tada tarefa, mas ai nda que, quando l he for
necessri o empreender di ferentes ati vi dades, cada uma del as sol i ci te
o mai s poss vel do seu preparo e da sua capaci dade. Do mesmo modo,
a uti l i zao econmi ca da mqui na exi ge que um potente torno, quando
especi al mente adaptado para um gnero de trabal ho, possa ser em-
pregado o mai or tempo poss vel nesse servi o; e se h preci so de
empreg-l o noutro trabal ho, este deve ser tal que val ha a pena ser
fei to pel o torno, e no um que podi a ter si do i gual mente fei to por
mqui na mui to menor.
Nesse caso, poi s, ao menos no que se refere economi a da pro-
duo, homens e mqui nas esto quase no mesmo pl ano: mas enquanto
a mqui na mero i nstrumento de produo, o bem-estar humano
tambm seu l ti mo fi m. J nos ocupamos da questo de saber se a
raa humana como um todo ganha em l evar ao extremo a especi al i zao
de funes, que permi te fazer por um pequeno nmero os trabal hos
mai s di f cei s, mas agora temos que consi der-l a mai s de perto com
refernci a especi al ao trabal ho de admi ni strao de empresa. O pri n-
ci pal objeti vo dos trs prxi mos cap tul os averi guar por que, entre
as di ferentes formas de admi ni strao de empresas, uma so mai s
aptas a ti rar parti do do mei o ambi ente e de preval ecer sobre as outras;
mas por enquanto conveni ente que tenhamos em mente a questo
de at que ponto el as so ri gorosamente aptas a benefi ci ar o seu mei o
ambi ente.
Mui tas das economi as na uti l i zao de mo-de-obra e maqui nari a
especi al i zadas, comumente consi deradas pecul i ares aos estabel eci men-
tos mui to grandes, no dependem do tamanho das fbri cas i ndi vi duai s.
Al gumas dependem do vol ume total da produo do mesmo gnero de
fbri cas na vi zi nhana; enquanto outras, especi al mente as rel aci onadas
com o adi antamento da ci nci a e o progresso das artes, dependem
pri nci pal mente do vol ume gl obal de produo em todo o mundo ci vi -
l i zado. E aqui podemos i ntroduzi r doi s termos tcni cos.
Podemos di vi di r as economi as deri vadas de um aumento da escal a
de produo de qual quer espci e de bens em duas cl asses: pri mei ra,
as dependentes do desenvol vi mento geral da i ndstri a; e segunda, as
dependentes dos recursos das empresas que a el a se dedi cam i ndi vi -
dual mente, das suas organi zaes e efi ci nci a de suas admi ni straes.
Podemos chamar as pri mei ras de economias externas, e as l ti mas de
MARSHALL
315
economias internas. No presente cap tul o estudamos sobretudo as eco-
nomi as i nternas, mas agora vamos exami nar aquel as economi as ex-
ternas mui to i mportantes, que podem freqentemente ser consegui das
pel a concentrao de mui tas pequenas empresas si mi l ares em deter-
mi nadas l ocal i dades, ou seja, como se di z comumente, pel a l ocal i zao
da i ndstri a.
OS ECONOMISTAS
316
CAPTULO X
Organizao Industrial (Continuao) Concentrao de
Indstrias Especializadas em Certas Localidades
1. Em um estgi o pri mi ti vo da ci vi l i zao, cada l ugar ti nha
que depender de seus prpri os recursos para a mai ori a das mercadori as
pesadas que consumi a, a menos que di spusesse de faci l i dades especi ai s
para o transporte por gua. As necessi dades e os costumes, porm,
foram pouco a pouco se transformando, o que tornou fci l aos produtores
i r ao encontro das necessi dades de at mesmo consumi dores com os
quai s ti nha poucos mei os de comuni cao, e permi ti u que pessoas re-
l ati vamente pobres pudessem adqui ri r um certo nmero de mercadori as
caras de l ugares di stantes, na certeza de que estas aumentari am o
prazer das festas e feri ados de toda uma vi da, e tal vez mesmo de duas
ou trs geraes. Por consegui nte, os mai s l eves e mai s caros arti gos
de vesturi o e adorno pessoal , ao l ado das especi ari as e de al guns
utens l i os de metal , usados por todas as cl asses, al m de mui tas outras
coi sas uti l i zadas excl usi vamente pel as mai s ri cas, freqentemente pro-
vi nham de di stnci as surpreendentes. Al guns desses arti gos eram pro-
duzi dos em al guns l ugares apenas, ou mesmo num ni co l ugar, e se
di fundi ram por toda a Europa, em parte por mei o das fei ras
278
e dos
mascates profi ssi onai s, e em parte pel os prpri os produtores, que vari avam
de ocupao vi ajando, a p, atravs de vri os mi l hares de mi l has, a fi m
de vender seus produtos e conhecer o mundo. Esses resol utos vi ajantes
di spunham-se a correr os ri scos de seu pequeno comrci o; permi ti am que
a produo de certas cl asses de bens segui sse o rumo necessri o para
sati sfazer as necessi dades de compradores di stantes e cri avam entre os
consumi dores novas necessi dades, mostrando-l hes nas fei ras ou em suas
317
278 Assi m, nos regi stros da Fei ra de Stourbri dge, perto de Cambri dge, encontra-se uma vari e-
dade enorme de objetos del i cados e preci osos, proveni entes dos mai s anti gos centros da
ci vi l i zao no Ori ente e no Medi terrneo, al guns dos quai s ti nham si do trazi dos por navi os
i tal i anos, e outros havi am vi ajado por terra at o l i toral do Mar do Norte.
prpri as casas mercadori as proveni entes de pa ses l ong nquos. Uma
i ndstri a concentrada em certas l ocal i dades comumente, embora no
mui to acertadamente, chamada de i ndstri a l ocal i zada.
279
Essa l ocal i zao el ementar da i ndstri a preparou gradual mente o
cami nho para mui tos dos modernos avanos da di vi so do trabal ho nas
artes mecni cas e na tarefa de admi ni strao de empresa. Mesmo agora,
encontramos i ndstri as de esti l o pri mi ti vo, l ocal i zadas em vi l as remotas
da Europa Central , que envi am seus produtos at os mai s i mportantes
centros da i ndstri a moderna. A expanso de um grupo fami l i ar at formar
uma aldeia foi, na Rssi a, freqentemente, a ori gem de uma i ndstri a
l ocal i zada e exi ste um grande nmero de al dei as, cada uma das quai s
exerce apenas um ramo da produo, ou somente uma parte del e.
280
2. So mui tas as di versas causas que l evaram l ocal i zao de
i ndstri as, mas as pri nci pai s foram as condi es f si cas, tai s como a
natureza do cl i ma e do sol o, a exi stnci a de mi nas e de pedrei ras nas
proxi mi dades, ou um fci l acesso por terra ou mar. Assi m, as i ndstri as
metal rgi cas si tuaram-se geral mente perto de mi nas ou em l ugares
em que o combust vel era barato. A i ndstri a do ferro na I ngl aterra
procurou pri mei ro os di stri tos de carvo abundante, e depoi s si tuou-se
na vi zi nhana das prpri as mi nas.
281
Em Staffordshi re fabri cam-se v-
ri os ti pos de cermi ca, com materi ai s i mportados de regi es l ong nquas,
porm nessa l ocal i dade h carvo barato e uma argi l a excel ente para
fazer os pesados potes de cozer porcel ana (seggars), em que se col ocam
os objetos de cermi ca ao serem l evados ao fogo. A i ndstri a de tranado
de pal ha tem seu centro pri nci pal em Bedfordshi re, onde a pal ha tem
preci samente a exata proporo de s l ex, capaz de fortal ec-l a sem a tornar
quebradi a. As fai as de Bucki nghamshi re forneceram o materi al para a
OS ECONOMISTAS
318
279 At pouco tempo atrs as pessoas que vi ajavam pel o Ti rol Ori ental encontravam um re-
manescente estranho e caracter sti co desse hbi to, numa al dei a chamada I mst, cujos ha-
bi tantes ti nham adqui ri do uma habi l i dade especi al em cri ar canri os, e os jovens di ri gi am-se
a regi es di stantes, na Europa, cada um com cerca de ci nqenta gai ol i nhas, penduradas
numa vara que l evavam no ombro, e andavam at vender todos.
280 H, por exempl o, mai s de 500 al dei as que se dedi cam aos di versos ti pos de trabal hos em
madei ra. Uma al dei a se l i mi ta a fabri car os rai os para as rodas das carroas, outra faz a
carroceri a do ve cul o e assi m por di ante. H i nd ci os de um estado de coi sas semel hante
na hi stri a das ci vi l i zaes ori entai s, e na hi stri a da Europa medi eval . Vemos, por exempl o
(ROGERS. Six Centuries of Work and Wages. Cap. I V), na agenda de um advogado datada
de 1250, que se fabri cavam em Li ncol n teci do escarl ate; cobertores em Bl i gh; teci do de l
marrom em Beverl ey; teci do rsti co, castanho-avermel hado, em Col chester, teci do de l i nho
em Shaftesbury, Lewes e Ayl sham; cordes de vel udo em Warwi ck e Bri dport; facas em
Marstead; agul has em Wi l ton; naval has em Lei cester, sabo em Coventry; ci l has para
caval os em Doncaster; pel es e couros em Chester e Shrewsbury, e assi m por di ante.
A l ocal i zao das profi sses na I ngl aterra no i n ci o do scul o XVI I I est bem descri ta no
Plan of English Commerce, pp. 85-87 e no English Tradesman I I , pp. 282-283 de Defoe.
281 As l ti mas mi graes da i ndstri a do ferro no Pa s de Gal es, de Staffordshi re e Shropshi re
para a Escci a e o norte da I ngl aterra, so i ndi cadas com mui ta preci so nas tabel as
apresentadas por Si r Lowthi an Bel l recente Comi sso sobre a Depresso do Comrci o e
I ndstri a. (Ver o Segundo Rel atri o, Parte I , p. 320.)
fabri cao de cadei ras em Wycombe. A cutel ari a de Sheffi el d deve-se
pri nci pal mente ao areni to de que so fei tas suas pedras de amol ar.
Outro fator i mportante foi o patroc ni o de uma corte. O ri co con-
ti ngente l reuni do d l ugar a uma procura para as mercadori as de
uma qual i dade excepci onal mente al ta, e i sso atrai operri os especi a-
l i zados, vi ndos de l onge, ao mesmo tempo que educa os trabal hadores
l ocai s. Quando um potentado ori ental mudava sua resi dnci a e i sso,
em parte por moti vos sani tri os, era fei to constantemente a ci dade
abandonada costumava desenvol ver a i ndstri a especi al i zada que sur-
gi ra com a presena da corte. Mas mui tas vezes os di ri gentes convi -
davam del i beradamente os artesos que resi di am em outras l ocal i da-
des, e os i nstal avam aos grupos. Assi m, di z-se que a capaci dade me-
cni ca de Lancashi re devi da i nfl unci a dos ferrei ros normandos,
que ti nham si do i nstal ados em Warri ngton por Hugo de Lupus, no
tempo de Gui l herme, o Conqui stador. E a mai or parte da i ndstri a
manufaturei ra da I ngl aterra, antes da era do al godo e do vapor, teve
seu curso di ri gi do por col ni as de fl amengos e outros artesos, mui tas
das quai s estabel eci das sob a di reo i medi ata dos rei s Pl antagenetas e
Tudors. Esses i mi grantes ensi naram aos i ngl eses a tecel agem de l e
seus artefatos, embora durante mui to tempo esses teci dos conti nuassem
a ser envi ados para os Pa ses-Bai xos, a fi m de serem acabados e ti ngi dos.
Ensi naram os i ngl eses a defumar os arenques, a manufaturar a seda, a
fazer renda, vi dro, papel , e a atender a mui tas outras necessi dades.
282
Mas como ti nham esses i mi grantes aprendi do suas di versas es-
peci al i dades? Seus antepassados, sem dvi da, aprovei taram-se das ar-
tes tradi ci onai s das ci vi l i zaes pri mi ti vas do l i toral do Medi terrneo
e do Extremo Ori ente, poi s quase todo conheci mento i mportante tem
ra zes profundas que remontam a tempos recuados. Essas ra zes se
estenderam tanto, esti veram sempre to prontas a brotar que tal vez
no haja nenhuma regi o do Vel ho Mundo em que j no ti vessem
fl oresci do, h l ongo tempo, mui tas i ndstri as al tamente especi al i zadas,
se o seu cresci mento ti vesse si do favoreci do pel o carter do povo e por
suas i nsti tui es pol ti cas e soci ai s. O apareci mento de uma determi -
nada i ndstri a em uma ci dade pode ter si do determi nado por um outro
aci dente; o prpri o carter i ndustri al de todo um pa s pode ter si do
grandemente i nfl uenci ado pel a ri queza de seu sol o e de suas mi nas,
e por suas faci l i dades para o comrci o. Tai s vantagens naturai s podem
ter esti mul ado por si mesmas a l i berdade de i ndstri a e de empresa,
mas a exi stnci a destas l ti mas, qual quer que tenha si do o moti vo
MARSHALL
319
282 Ful l er di z que os fl amengos deram i n ci o manufatura de panos e fustes teci dos em Norwi ch,
baetas em Sudbury, sarjas em Col chester e Taunton, teci dos em Kent, Gl oucestershi re, Wor-
cestershi re, Westmorl and, Yorkshi re, Hants, Berks e Sussex, panos grossos em Devonshi re e
teci dos de al godo do Levante em Lancashi re. Ver SMI LES. Huguenots in England and I reland.
p. 109; LECKY. History of England in the eighteenth Century. cap. I I .
que as fez nascer, que consti tui a condi o suprema de desenvol vi mento
de nobres formas das artes da vi da. Ao esboar a hi stri a da i ndstri a
e das empresas l i vres j i ndi camos, i nci dentemente, as causas que
determi naram a l ocal i zao das pri nci pai s i ndstri as ora num pa s,
ora noutro. Vi mos como a natureza f si ca age sobre as energi as do
homem, como el e esti mul ado por um cl i ma vi gori zante, e como a
abertura de novos campos para o seu trabal ho o l eva a enfrentar novas
aventuras; mas vi mos tambm como a uti l i zao dessas vantagens de-
pende de seus i deai s de vi da, e como, portanto, na hi stri a do mundo
esto entrel aadas as i nfl unci as rel i gi osas, pol ti cas e econmi cas, em-
bora juntas se tenham i ncl i nado para um ou outro l ado em vi rtude de
grandes aconteci mentos pol ti cos, ou atravs da i nfl unci a de i ndi v duos
dotados de forte personal i dade.
As causas que determi nam o progresso econmi co das naes
pertencem ao estudo do comrci o i nternaci onal e, portanto, fogem ao
escopo da presente obra. Poremos de l ado, no momento, esses movi -
mentos mai s ampl os da l ocal i zao i ndustri al , e exami naremos o des-
ti no dos agrupamentos de trabal hadores especi al i zados que se renem
dentro dos estrei tos l i mi tes de uma ci dade manufaturei ra, ou de uma
regi o i ndustri al densamente povoada.
3. So tai s as vantagens que as pessoas que seguem uma mesma
profi sso especi al i zada obtm de uma vi zi nhana prxi ma, que desde que
uma indstri a escol ha uma l ocal i dade para se fi xar, a permanece por
l ongo espao de tempo. Os segredos da profi sso dei xam de ser segredos,
e, por assi m di zer, fi cam sol tos no ar, de modo que as cri anas absorvem
i nconsci entemente grande nmero del es. Apreci a-se devi damente um tra-
bal ho bem-fei to, di scutem-se i medi atamente os mri tos de i nventos e me-
l hori as na maqui nari a, nos mtodos e na organi zao geral da empresa.
Se um l ana uma idi a nova, el a i medi atamente adotada por outros,
que a combi nam com sugestes prpri as e, assi m, essa i di a se torna
uma fonte de outras idi as novas. Acabam por surgi r, nas proxi mi dades
desse l ocal , ati vi dades subsi di ri as que fornecem indstri a pri nci pal
i nstrumentos e matri as-pri mas, organi zam seu comrci o e, por mui tos
mei os, l he proporci onam economi a de materi al .
Al m di sso, a uti l i zao econmi ca de mqui nas de al to preo
pode mui tas vezes ser real i zada numa regi o em que exi sta uma grande
produo conjunta da mesma espci e, ai nda que nenhuma das fbri cas
tenha um capi tal i ndi vi dual mui to grande, poi s as i ndstri as subsi -
di ri as, devotando-se cada uma a um pequeno ramo do processo da
produo e trabal hando para mui tas das grandes fbri cas de suas vi -
zi nhas, podem empregar conti nuamente mqui nas mui to especi al i za-
das, consegui ndo uti l i z-l as rendosamente, embora o seu custo ori gi nal
seja el evado e sua depreci ao mui to rpi da.
Al m di sso, em todos os estgi os do desenvol vi mento econmi co,
OS ECONOMISTAS
320
exceto nos mai s pri mi ti vos, uma i ndstri a l ocal i zada obtm grande
vantagem pel o fato de oferecer um mercado constante para mo-de-obra
especi al i zada. Os patres esto sempre di spostos a recorrer a qual quer
l ugar em que possam encontrar uma boa sel eo de operri os dotados
da habi l i dade especi al de que necessi tam e, ao mesmo tempo, todo
i ndi v duo procura de trabal ho di ri ge-se natural mente aos l ugares
em que h mui tos patres procura de operri os dotados da sua es-
peci al i zao e onde, portanto, encontraro um bom mercado. O pro-
pri etri o de uma fbri ca i sol ada, embora possa consegui r um grande
nmero de operri os no especi al i zados, geral mente tem grande di fi -
cul dade em obter operri os de uma determi nada especi al i zao; por
outro l ado, um operri o especi al i zado, uma vez desempregado, tem
di fi cul dade em encontrar outro emprego. Aqui as foras soci ai s coope-
ram com as econmi cas: h freqentemente uma ami zade profunda
entre empregados e empregadores, mas nenhum dos l ados gosta de
senti r que, caso surja entre el es al gum i nci dente desagradvel , tm
que conti nuar a vi ver um perto do outro; ambos preferem estar certos
de que no ser di f ci l romperem as anti gas rel aes caso el as se tornem
desagradvei s. Essas di fi cul dades conti nuam a ser um grande obstcul o
ao sucesso de qual quer empresa em que seja necessri a uma determi -
nada especi al i dade, e que no esteja si tuada nas proxi mi dades de outras
empresas si mi l ares. Porm tai s di fi cul dades esto sendo atenuadas
pel as estradas de ferro, pel a i mprensa e pel o tel grafo.
Por outro l ado, uma i ndstri a l ocal i zada tem al gumas desvan-
tagens como mercado de trabal ho, se a ati vi dade que el a real i za de
uma s cl asse, como, por exempl o, um trabal ho que s pode ser fei to
por homens fortes. Nas regi es si derrgi cas, onde no h fbri cas tx-
tei s nem quai squer outras que dem emprego a mul heres e cri anas,
os sal ri os so el evados e o custo da mo-de-obra al to para o em-
pregador, ao passo que a mdi a do di nhei ro ganho por fam l i a bai xa.
O remdi o para esse mal evi dente, e encontra-se no cresci mento, na
mesma vi zi nhana, de i ndstri as de carter supl eti vo. Assi m, nas pro-
xi mi dades das i ndstri as de mi nerao e de construo esto freqen-
temente i ndstri as txtei s, que em al guns casos foram atra das me-
di ante gestes quase i mpercept vei s. Assi m, as i ndstri as txtei s agre-
gam-se constantemente na vi zi nhana de i ndstri as de mi nerao, ten-
do si do atra das, por vezes, quase i mpercepti vel mente. Em outras re-
gi es, como por exempl o em Barrow, foram estabel eci das del i berada-
mente, e em grande escal a, para oferecer uma vari edade de empregos
onde antes havi a pouca procura para o trabal ho de mul heres e cri anas.
Em al gumas das ci dades manufaturei ras da I ngl aterra as van-
tagens da vari edade de emprego se combi nam com as da l ocal i zao
das i ndstri as, e i sso consti tui a causa pri nci pal do seu cont nuo cres-
ci mento. Mas, por outro l ado, o val or que o centro de uma grande
ci dade tem para fi ns comerci ai s permi te que se exi ja pel o terreno um
preo mui to mai s el evado do que el e val eri a para uma fbri ca, mesmo
quando se l eva em consi derao essa combi nao de vantagens. E h
MARSHALL
321
uma concorrnci a semel hante entre os empregados do comrci o e os
operri os em rel ao moradi a, e o resul tado que as fbri cas se
si tuam atual mente nos subrbi os das grandes ci dades, ou em seus
di stri tos i ndustri ai s, e nunca nas prpri as ci dades.
283
Uma regi o que possua excl usi vamente uma ni ca i ndstri a, caso
di mi nua a procura dos produtos dessa i ndstri a, ou caso haja uma
i nterrupo no forneci mento da matri a-pri ma, fi ca exposta a uma gra-
ve cri se. Esse mal pode ser remedi ado, em grande parte, nas grandes
ci dades ou nas grandes regi es manufaturei ras em que se desenvol vem
vri os ti pos de i ndstri a. Se uma das i ndstri as no produzi r durante
al gum tempo, as outras a auxi l i aro i ndi retamente, e i sso permi te que
os l oji stas l ocai s conti nuem a auxi l i ar os operri os desempregados.
At aqui di scuti mos a l ocal i zao do ponto de vi sta da economi a
da produo. Mas preci so tambm consi derar a conveni nci a do con-
sumi dor. El e i r l oja prxi ma para uma compra i nsi gni fi cante, mas
para uma compra de vul to se d ao trabal ho de i r at o trecho da
ci dade em que sabe que esto si tuadas as mel hores l ojas do arti go que
deseja. Conseqentemente, as l ojas que negoci am com objetos caros e
sel eci onados tendem a se agrupar, e as que fornecem objetos de uso
comum no preci sam faz-l o.
284
4. Qual quer barateamento nos mei os de comuni cao, qual quer
faci l i dade que surja para a troca de i di as entre regi es di stantes,
al tera a ao das foras que tendem a l ocal i zar as i ndstri as. Fal ando
em termos gerai s, podemos di zer que uma reduo de tari fas al fande-
gri as ou de fretes do transporte de mercadori as tende a fazer com
que uma regi o adqui ra de l ugares di stantes mai or quanti dade daqui l o
de que preci sa, tendendo assi m a concentrar determi nadas i ndstri as
em determi nadas l ocal i dades. Mas, por outro l ado, tudo quanto au-
menta a di sposi o das pessoas a emi grar de um para outro l ado,
tende a fazer com que os operri os especi al i zados se agrupem perto
dos consumi dores de seus produtos. Essas duas tendnci as opostas
fi cam bem i l ustradas atravs da hi stri a recente do povo i ngl s.
Por um l ado, o barateamento constante dos fretes, a abertura de
OS ECONOMISTAS
322
283 Esse movi mento foi especi al mente evi dente no caso dos fabri cantes de teci dos. Manchester,
Leeds e Lyons conti nuam a ser os pri nci pai s centros do comrci o de teci dos de al godo, l
e seda, respecti vamente, mas el es no produzem sozi nhos a mai or parte das mercadori as
s quai s devem a sua fama. Por outro l ado, Londres e Pari s mantm as suas posi es
como as duas mai ores ci dades manufaturei ras do mundo, fi cando Fi l adl fi a em tercei ro
l ugar. As i nfl unci as rec procas da l ocal i zao das i ndstri as, cresci mento das ci dades e
hbi tos de vi da urbanos, e desenvol vi mento da maqui nari a, so bem di scuti das no l i vro
de Hobson, Evolution of Capitalism.
*
*
John Atki nson Hobson (1858-1940), economi sta e pol ti co i ngl s, pri mei ro do Parti do
Li beral e, depoi s, do Trabal hi sta. Oponente da teori a margi nal i sta. Em seu estudo das
cri ses econmi cas atri bui -l hes, como causa, o subconsumo. Sua anl i se do I mperialismo
(1902) granjeou-l he grande notori edade no s por mri to i ntr nseco mas, pri nci pal mente,
por ter si do uti l i zada por Lni n no I mperialismo, Estgio Supremo do Capitalismo. autor,
tambm, do Problema do Desemprego (1895). (N. dos T.)
284 Comparar com HOBSON. Op. cit., p. 114.
estradas de ferro das regi es agr col as da Amri ca e da ndia at o mar,
e a adoo pela I ngl aterra de uma pol tica livre-cambista, levaram a um
grande aumento da sua i mportao de matri as-pri mas. Mas, por outro
l ado, o barateamento constante, a rapi dez e o conforto das vi agens pel o
exteri or esto induzindo os seus homens de negcios e operri os especi a-
l izados a servi rem de pi onei ros s indstrias de outros pa ses, auxil i ando-as
a produzi r as mercadori as que estavam habituados a adqui ri r da I ngl aterra.
Mecni cos i ngleses ensi naram a mecnicos de quase todas as partes do
mundo a utilizar as mqui nas ingl esas, e mesmo a fabri car mquinas
semel hantes, e os minei ros i ngleses abri ram mi nas que contri bu ram para
di mi nuir a procura de mui tos produtos i ngl eses.
Um dos movi mentos mai s notvei s que a hi stri a regi stra, no
senti do da especi al i zao das i ndstri as de um pa s, o rpi do aumento
da popul ao no-agr col a da I ngl aterra, nos l ti mos tempos. A na-
tureza exata dessa transformao pode, no entanto, ser mal i nterpre-
tada, e o seu i nteresse to grande, tanto por si mesma, como por
fornecer um ti mo exempl o dos pri nc pi os gerai s que expusemos neste
cap tul o e no anteri or, que convm determo-nos para exami n-l a.
Em pri mei ro l ugar, a di mi nui o real das i ndstri as agr col as
da I ngl aterra no to grande como parece pri mei ra vi sta. verdade
que na I dade Mdi a trs quartas partes da popul ao da I ngl aterra
eram consi deradas agr col as, e que, no l ti mo recenseamento, s uma
pessoa em nove se ocupava de agri cul tura, e que tal vez no prxi mo
recenseamento s esteja nessa si tuao uma pessoa em doze. Mas deve
ser l embrado que a popul ao medi eval que era consi derada agr col a
no se ocupava excl usi vamente da agri cul tura: el a executava, por si
mesma, grande parte do trabal ho que atual mente fei to por fabri cantes
de cerveja, padei ros, fi andei ros e tecel es, pedrei ros e carpi ntei ros, cos-
turei ras e al fai ates e mui tos outros profi ssi onai s. Esse costume de se
bastar a si mesmo morreu l entamente e a mai or parte del e j ti nha
desapareci do quase que total mente no i n ci o do scul o passado. pro-
vvel que a soma do trabal ho consagrado terra nessa poca no
consti tu sse, em rel ao ao trabal ho do pa s, uma parte mui to menor
do que a exi stente na I dade Mdi a. Com efei to, embora a I ngl aterra
dei xasse de exportar l e tri go, houve um tal aumento na produo
do sol o que o rpi do progresso dos seus mtodos agr col as mal pde
conter a ao da l ei do rendi mento decrescente, grande parte do trabal ho
se afastou dos campos para se dedi car ao fabri co de mqui nas agr col as,
de preo el evado. Essa mudana no exerceu toda a sua i nfl unci a
sobre o nmero dos que eram computados como agri cul tores, enquanto
as mqui nas conti nuaram a ser puxadas por caval os, poi s o trabal ho
de cui dar del es e al i ment-l os era consi derado trabal ho agr col a. Nos
l ti mos anos, porm, um rpi do aumento no uso do vapor nas mqui nas
agr col as vei o coi nci di r com o aumento da i mportao de produtos agr -
col as. Os mi nei ros que fornecem o combust vel para essas mqui nas
a vapor, e os mecni cos que as fabri cam e as di ri gem nos campos, no
so recenseados como ocupados na terra, embora a fi nal i dade l ti ma
MARSHALL
323
de seu trabal ho seja o seu cul ti vo. Assi m, a di mi nui o real da popul ao
agr col a da I ngl aterra no to grande quanto parece pri mei ra vi sta:
houve apenas uma transformao na sua di stri bui o. Mui tas tarefas
que anti gamente eram executadas por trabal hadores agr col as esto
agora sendo executadas por trabal hadores especi al i zados, que so cl as-
si fi cados nos ramos da construo de edi f ci os e estradas, dos trans-
portes etc. E, em parte, por essa razo que poucas vezes di mi nui u
rapi damente o nmero de pessoas resi dentes em regi es excl usi vamente
agr col as, e que esse nmero mui tas vezes aumentou apesar da di mi -
nui o rpi da do nmero de pessoas que se dedi cam agri cul tura.
J chamamos a ateno para a i nfl unci a que a i mportao de
produtos agr col as exerce, no senti do de al terar o val or rel ati vo de
di ferentes ti pos de sol o; fez com que di mi nu ssem de val or os que de-
pendi am excl usi vamente da col hei ta do tri go, e que no eram natu-
ral mente frtei s, embora fossem capazes de dar uma col hei ta regul ar
medi ante custosos mtodos de cul ti vo. As regi es em que predomi na
esse ti po de sol o foram as que forneceram a mai or parte dos operri os
agr col as que mi graram para as grandes ci dades; e assi m a di stri bui o
geogrfi ca das i ndstri as dentro do pa s se al terou ai nda mai s. Um
exempl o bem i l ustrati vo da i nfl unci a que um novo mei o de transporte
exerce dado pel as regi es de pastorei o, nas partes mai s remotas do
Rei no Uni do, que envi am seus produtos para Londres, di ari amente,
por trem expresso, e recebem seu abasteci mento de tri go das costas
di stantes do Atl nti co, ou mesmo do oceano Pac fi co.
Por outro l ado, as transformaes dos l ti mos anos no ti veram
por efei to, como pri mei ra vi sta seri a provvel , aumentar a proporo
dos operri os i ndustri ai s. A produo das fbri cas i ngl esas , segura-
mente, mui tas vezes mai or do que era nos meados do scul o passado;
mas as pessoas dedi cadas i ndstri a em seus di versos ramos repre-
sentam a mesma porcentagem da popul ao em 1851 que em 1901,
embora os que fabri cam mqui nas e utens l i os que fazem grande parte
do trabal ho agr col a na I ngl aterra contri buam para aumentar o nmero
dos operri os i ndustri ai s.
A pri nci pal expl i cao desse resul tado est no aumento prodi gi oso
do poder da mqui na nos l ti mos tempos. Esse aperfei oamento per-
mi ti u que fossem produzi das quanti dades crescentes de objetos manu-
faturados de toda espci e, seja para consumo i nterno, seja para a ex-
portao, sem aumentar mui to o nmero dos que cui dam das mqui nas.
E, por consegui nte, foi poss vel uti l i zar a mo-de-obra de que a agri -
cul tura presci ndi u, para sati sfazer necessi dades para as quai s o pro-
gresso da maqui nari a de pouco nos servi u: a efi ci nci a da maqui nari a
tem i mpedi do que as i ndstri as l ocal i zadas da I ngl aterra se tornem
to excl usi vamente mecni cas como, de outro modo, poderi a acontecer.
Entre as profi sses que se desenvol veram na I ngl aterra, depoi s de
1851, custa da agri cul tura, tm o pri mei ro l ugar os servi os pbl i cos
central e l ocai s, o ensi no de todos os graus, servi os mdi cos, msi ca,
teatro e outros di verti mentos, al m da mi nerao, da construo e das
OS ECONOMISTAS
324
ocupaes l i gadas ao transporte por estradas de ferro e de rodagem.
Em nenhuma dessas profi sses os novos i nventos foram de grande
ajuda; o trabal ho do homem nel as no mai s efi ci ente agora do que
era h um scul o. Portanto, se as necessi dades a que el as provem
aumentam proporci onal mente ri queza geral , de se esperar que
absorvam uma proporo cada vez mai or da popul ao i ndustri al . O
nmero de empregados domsti cos aumentou rapi damente durante al -
guns anos, e o total do trabal ho que l hes cabe aumenta cada vez mai s.
A mai or parte del e, porm, fei ta hoje geral mente com aux l i o de
mqui nas, por pessoas que esto a servi o de confeces de todas as
espci es, confei tei ros e ai nda entregadores de mercadori as dos arma-
zns, pei xei ros e outros que vo recol her os pedi dos quando no so
fei tos por tel efone. Essas transformaes tenderam a aumentar a es-
peci al i zao e a l ocal i zao das i ndstri as.
Dei xando de l ado essa sri e de exempl os sobre a ao que as
foras modernas exercem sobre a di stri bui o geogrfi ca das i ndstri as,
retomaremos nossa i nvesti gao sobre a que ponto podem chegar as
economi as da di vi so do trabal ho pel a concentrao de grande nmero
de pequenas empresas da mesma espci e numa mesma l ocal i dade, e
at que ponto esse resul tado pode ser obti do pel a concentrao de
grande parte do comrci o do pa s em mos de um nmero rel ati vamente
pequeno de fi rmas ri cas e poderosas ou, como se di z correntemente,
atravs da produo em l arga escal a; ou, em outras pal avras, at que
ponto as economi as de produo em l arga escal a devem ser internas,
e at que ponto devem ser externas.
285
MARSHALL
325
285 A porcentagem de pessoas que trabal havam nas i ndstri as txtei s no Rei no Uni do cai u
de 3,13 em 1881 para 2,43 em 1901. I sso se deve, em parte, ao fato de que mui to do
trabal ho a fazer foi to si mpl i fi cado por mqui nas semi -automti cas, que pode ser executado
faci l mente por povos que se acham numa si tuao i ndustri al rel ati vamente atrasada. Al m
di sso, os pri nci pai s produtos txtei s conservam quase o mesmo carter el ementar que
possu am h tri nta, ou mesmo h trezentos anos. Por outro l ado, as i ndstri as de ferro e
ao (i ncl ui ndo-se aqui a construo de navi os) aumentaram a tal ponto, tanto em compl e-
xi dade como no vol ume da produo, que a porcentagem da popul ao que se ocupa com
essas i ndstri as el evou-se de 2,39 em 1881 para 3,01 em 1901, embora nesse mei o tempo
as mqui nas empregadas nessas i ndstri as tenham progredi do mai s do que as do ti po
txti l . As demai s i ndstri as empregavam em 1901 quase que a mesma porcentagem de
pessoas que empregavam em 1881. Nesse mesmo per odo, a tonel agem de navi os bri tni cos
que zarpou de portos i ngl eses aumentou de 50%; o nmero de esti vadores dupl i cou, mas
o de mari nhei ros di mi nui u l i gei ramente. Esses fatos expl i cam-se em parte pel o grande
aperfei oamento na construo de navi os e de toda a aparel hagem l i gada a el es, e em
parte por terem passado a ser fei tas pel os esti vadores quase todas as tarefas rel aci onadas
com a carga e descarga do navi o, que at h al guns anos eram fei tas pel a tri pul ao.
Outra transformao acentuada o aumento de nmero de mul heres empregadas nas
fbri cas, embora o nmero de mul heres casadas parea ter di mi nu do, e o de cri anas
tenha se reduzi do mui to. As tabel as do Censo de 1911, publ i cadas em 1915, mostram
grandes modi fi caes na cl assi fi cao, a parti r de 1901, de modo que no poss vel dar
uma vi so geral das transformaes recentes. Mas a Tabel a 64 desse Rel atri o e os dados
que o prof. D. Caradog Jones l eu para a Royal Sati sti cal Soci ety em dezembro de 1914
mostram que os dados de 1901 a 1911 di ferem dos anteri ores apenas em questes de
detal he e no em seu carter geral .
CAPTULO XI
Organizao Industrial (Continuao)
Produo em Larga Escala
1. As vantagens da produo em l arga escal a se apreci am me-
l hor na manufatura. Nessa categori a podemos i ncl ui r todas as ati vi -
dades que se ocupam em el aborar o materi al em formas que o adaptem
venda em mercados di stantes. A caracter sti ca das i ndstri as ma-
nufaturei ras, que faz com que estas ofeream geral mente os mel hores
exempl os das vantagens da produo em l arga escal a, a sua possi -
bi l i dade de escol her l i vremente a l ocal i dade onde vo trabal har. Di fe-
renci am-se, assi m, de um l ado, da agri cul tura e de outras i ndstri as
extrati vas (mi nerao, pedrei ras, pesca etc.), cuja di stri bui o geogr-
fi ca determi nada pel a natureza; e, de outro, das i ndstri as que fazem
ou consertam coi sas para atender s necessi dades especi ai s dos con-
sumi dores i ndi vi duai s, dos quai s no podem se afastar mui to, sob o
ri sco de grande perda.
286
As pri nci pai s vantagens da produo em massa so a economi a
de mo-de-obra, a economi a de mqui na e a economi a de materi ai s:
mas a l ti ma destas rapi damente vai perdendo i mportnci a rel ati va-
mente s duas outras. verdade que um trabal hador i sol ado por vezes
desperdi a uma certa quanti dade de pequenas coi sas que teri am si do
col etadas e aprovei tadas numa fbri ca,
287
mas semel hante desperd ci o
raro numa manufatura l ocal i zada, mesmo que el a esteja em mos
de pequenos i ndustri ai s; e tal desperd ci o no ocorre com freqnci a
em nenhum ramo i ndustri al da I ngl aterra moderna, exceto na agri -
327
286 "Manufatura" um termo que h mui to tempo perdeu qual quer v ncul o com o seu si gni fi cado
ori gi nal : e hoje apl i cado aos ramos da produo nos quai s o trabal ho mecni co e no o
manual predomi nante. Roscher tentou devol v-l o aproxi madamente ao seu anti go uso,
apl i cando-o s i ndstri as domsti cas, em contraposi o s fabri s: mas j tarde demai s
para i sso.
287 Ver o exempl o de Babbage sobre a manufatura de arti gos de chi fre. Economy of Manufacture.
Cap. XXI I .
cul tura e na cozi nha domsti ca. Sem dvi da, mui tos dos progressos
mai s i mportantes nos anos recentes foram devi dos ao aprovei tamento
do que antes vi nha sendo rejei tado como refugo; mas i sso resul tou,
geral mente, depoi s de uma i nveno especi al , qu mi ca ou mecni ca,
cujo emprego foi com efei to i nspi rado pel a di vi so mi nuci osa do tra-
bal ho, ai nda que no tenha dependi do di retamente del a.
288
I gual mente, verdade que quando centenas de mvei s ou de
roupas ho de ser cortados exatamente pel o mesmo model o ou mol de,
val e a pena estudar cui dadosamente o modo de cortar a madei ra ou
o pano para que no se desperdi cem seno pequenos pedaos. Mas
i sso , propri amente, uma economi a de trabal ho; um s padro vai ser
uti l i zado em mui tas peas e, portanto, deve ser bem fei to, cui dadosa-
mente. Podemos, ento, passar economi a do maqui ni smo.
2. A despei to da ajuda que as i ndstri as compl ementares podem
prestar s pequenas manufaturas, onde mui tas do mesmo ramo i n-
dustri al esto reuni das num mesmo l ocal ,
289
el as ai nda fi cam col ocadas
numa si tuao de grande desvantagem em face da crescente vari edade
e encareci mento da maqui nari a. Poi s num grande estabel eci mento, h
freqentemente mui tas mqui nas caras, cada uma fei ta especi al mente
para um uso restri to. Cada qual exi ge espao com boa l uz, e assi m
aumenta consi deravel mente o val or l ocati vo e as despesas gerai s da
fbri ca; e fora os juros do capi tal nel a empatado e os gastos de sua
conservao, uma pesada verba deve ser destacada para a depreci ao,
poi s provvel que el a seja supl antada em breve por um ti po mai s
aperfei oado.
290
Por consegui nte, um pequeno fabri cante tem que ter
mui tas coi sas fei tas mo ou por mqui nas i mperfei tas, embora sai ba
como faz-l as mel hor e mai s baratas com maqui nari a especi al , se pu-
desse encontrar um emprego constante para el a.
Mas, al m di sso, um pequeno i ndustri al nem sempre pode estar
a par da mel hor maqui nari a para o fi m que tem em vi sta. certo que
se a i ndstri a a que se dedi ca j h mui to tempo tomou a forma de
produo em massa, sua maqui nari a nada dei xar a desejar, supondo
que el e possa comprar as mel hores do mercado. Na agri cul tura e nas
i ndstri as do al godo, por exempl o, os aperfei oamentos das mqui nas
OS ECONOMISTAS
328
288 o caso do aprovei tamento das sobras de al godo, l , seda e outros materi ai s txtei s; e
dos subprodutos nas i ndstri as metal rgi cas, na manufatura de soda e gs, e nas i ndstri as
ameri canas de l eo mi neral e de carne em conserva.
289 Ver cap tul o precedente, 3.
290 O tempo mdi o de durao de uma mqui na antes de fi car obsol eta em mui tas i ndstri as
no mai s que 15 anos, enquanto em outras de 10 e at menos. O uso de uma mqui na
freqentemente d preju zo se el a no ti ra por ano 20% do seu custo; e quando, no caso
de mqui na que custe 500 l i bras, a operao que el a real i za acrescenta apenas 1/100 ao
val or do materi al que trabal hado e este no um caso extremo haver preju zos
na sua uti l i zao se el a no esti ver produzi ndo mercadori as ao menos no val or de 10 mi l
l i bras anual mente.
so devi dos quase excl usi vamente aos fabri cantes destas, e el as so
acess vei s a todos, medi ante o pagamento de uma taxa pel a uti l i zao
da patente (royalty). Esse no , porm, o caso nas i ndstri as ai nda
em fase i ni ci al de desenvol vi mento ou que esto se transformando
rapi damente, tai s como as i ndstri as qu mi cas, a rel ojoei ra e al guns
ramos das manufaturas da juta e da seda, e um grande nmero de
i ndstri as que esto surgi ndo constantemente para atender a novas
necessi dades ou para trabal har al gum novo materi al .
Em todas essas i ndstri as, as novas mqui nas e os novos pro-
cessos so na mai or parte i deados pel os i ndustri ai s para seu prpri o
uso. Cada i novao uma experi nci a que pode fracassar. As que l o-
gram sucesso devem pagar os gastos ori gi nados por el as mesmas e
pel as que fracassaram, e, ai nda que o pequeno i ndustri al conceba al gum
aperfei oamento, tem que contar que ter de submet-l o prova, com
ri sco e despesa consi dervei s, i nterrompendo o seu trabal ho corrente;
e mesmo que o l eve a efei to, no provvel que ti re di sso grande
provei to. Por exempl o, el e pode ter concebi do uma nova especi al i dade,
que teri a uma grande venda se fosse ampl amente di vul gada. Mas para
i sso seri am preci sos mui tos mi l hares de l i bras esterl i nas. E, assi m
sendo, provavel mente teri a que abandon-l a, poi s l he i mposs vel rea-
l i zar aqui l o que Roscher consi dera uma tarefa caracter sti ca do i ndus-
tri al moderno, ou seja, cri ar novas necessi dades, mostrando ao pbl i co
al go em que no havi a pensado antes em obter mas que deseja to
l ogo l he sugi ram. Na i ndstri a cermi ca, por exempl o, o pequeno i n-
dustri al no pode mesmo se dar a experi nci as de novos model os ou
desenhos, exceto de manei ra mui to al eatri a. Sua possi bi l i dade mai or
no aperfei oamento de objetos que j tm um bom mercado. Mesmo
aqui , porm, no se poder benefi ci ar i ntei ramente da sua i nveno,
sal vo se a patentear e vender o di rei to de export-l a, ou tomar al gum
capi tal e expandi r seu negci o, ou fi nal mente mudar o carter de sua
i ndstri a, e dedi car o seu capi tal apenas quel a parte especi al da pro-
duo qual se apl i ca o seu mel horamento. Mas afi nal tai s casos so
excepci onai s: o cresci mento da maqui nari a em vari edade e custo pres-
si ona fortemente o pequeno i ndustri al em toda parte: j o excl ui u de
certos ramos e o est afastando rapi damente de outros.
291
MARSHALL
329
291 Em mui tas i ndstri as patenteada apenas uma reduzi da porcentagem dos aperfei oamen-
tos, poi s el es consi stem em pequenas adi es que no val eri am a pena patentear uma de
cada vez. Ou, ento, seu ponto caracter sti co consi ste em assi nal ar al go que deve ser fei to
ou um modo de operar, e nesse caso a patente seri a i nexeq vel , poi s no i mpedi ri a que
outras pessoas procurassem fazer a mesma coi sa por outros mei os. Se se ti ra uma patente,
, freqentemente, necessri o bl oque-l a patenteando outros mtodos de chegar ao mesmo
resul tado. O ti tul ar da patente no espera us-l a el e prpri o mas si m i mpedi r que outros
o faam. Tudo i sso i mpl i ca sacri f ci os, perda de tempo e di nhei ro: e o grande i ndustri al
prefere guardar a i nveno para si , ti rando quanto benef ci o possa da sua uti l i zao. Quanto
ao pequeno, se obtm uma patente, el e est sujei to a ser embaraado pel as contrafaes,
e mesmo que possa ganhar, com as custas, as aes movi das em defesa de seu pri vi l gi o,
H, contudo, algumas indstri as nas quais as vantagens advi ndas
da economi a de maqui nari a para uma grande fbri ca desaparecem l ogo
que el a ati nge um tamanho moderado. Por exempl o, na fi ao de al godo
e na tecel agem de chi ta, uma fbrica relati vamente pequena pode man-
ter-se e dar um emprego cont nuo s mel hores mqui nas conheci das para
os vri os processos, de modo que uma grande fbrica nada mais que a
reuni o de di versas fbri cas pequenas sob um mesmo teto; e na verdade
al gumas fi aes de al godo, quando se ampl i a o estabel eci mento, consi -
deram que o mel hor que tm a fazer acrescentar um departamento de
tecel agem. Em tai s casos, os grandes estabel eci mentos ganham pouca ou
nenhuma economi a na maqui nari a, embora, de ordi nri o, economi zem
alguma coisa nas construes, especi al mente no que se refere s chami ns,
no consumo do vapor, e na admi nistrao e conservao do ferramental
e maqui ni smos. As grandes fbri cas de teci dos tm ofi ci nas de carpi ntari a
e de mecni ca, que di mi nuem o custo dos consertos, e evi tam os retar-
damentos devi dos a aci dentes na i nstal ao.
292
Ao l ado dessas, exi stem mui tas outras vantagens que uma grande
fbri ca, ou mesmo uma grande empresa de um gnero qual quer, quase
sempre l eva sobre uma pequena. Uma grande empresa compra em
grandes quanti dades e, por consegui nte, mai s barato, paga bai xos fretes
e economi za no transporte de mui tas manei ras, parti cul armente se
tem um desvi o ferrovi ri o. El a vende comumente em grandes quanti -
dades, e assi m evi ta contratempos, vendendo entretanto a bom preo,
porque oferece ao fregus as vantagens de ter um grande estoque, no
qual el e pode escol her e de uma vez preencher um pedi do vari ado,
enquanto a reputao da empresa l he confere confi ana. El a pode gastar
grandes somas em propaganda, atravs de vi ajantes e outros mei os; seus
agentes l he fornecem i nformaes seguras sobre negci os e pessoas em
l ugares di stantes, e suas mercadori as fazem propaganda umas das outras.
As economi as obti das por uma boa organi zao de compras e de
vendas fi guram entre as pri nci pai s causas da tendnci a atual para a
OS ECONOMISTAS
330
el e se arrui nar se estas forem numerosas. geral mente do i nteresse pbl i co que seja
publ i cado todo mel horamento, mesmo que ao mesmo tempo seja patenteado. Mas se for
patenteado na I ngl aterra e no em outros pa ses, como no raro acontece, os i ndustri ai s
i ngl eses no o podem usar, mesmo que esti vessem a ponto de descobri -l o para si prpri os
antes de ser patenteado, enquanto os i ndustri ai s estrangei ros l em a descri o do aperfei -
oamento e podem us-l o l i vremente.
292 um fato notvel que as fbri cas de teci dos de al godo e de outros txtei s formam uma
exceo regra geral de que o capi tal exi gi do por cabea de trabal hadores geral mente
mai or numa grande fbri ca do que numa pequena. A razo que, na mai ori a das outras
i ndstri as, as grandes fbri cas fazem com mqui nas caras mui tas coi sas fei tas a mo nas
pequenas; de sorte que, enquanto a fol ha de sal ri os menor em proporo produo
numa grande fbri ca do que numa menor, o val or da maqui nari a e do espao ocupado pel a
maqui nari a mui to mai or. Mas nos ramos mai s si mpl es das i ndstri as txtei s os pequenos
estabel eci mentos tm o mesmo maqui ni smo que os grandes; e desde que as pequenas
mqui nas a vapor etc. so proporci onal mente mai s caras do que as grandes, exi gem um
mai or capi tal fi xo, em proporo ao seu rendi mento, do que as grandes fbri cas, e prova-
vel mente necessi taro de capi tal ci rcul ante tambm mai or proporci onal mente.
fuso de mui tas empresas da mesma i ndstri a ou comrci o em uma
ni ca enti dade gi gantesca; e tambm das federaes comerci ai s de v-
ri as ordens, i ncl usi ve os carti s al emes e cooperati vas centrai s. El as
tambm tm encorajado a concentrao dos ri scos dos negci os nas
mos de grandes capi tal i stas que subemprei tam o trabal ho a ser fei to
por pessoas de menor porte.
293
3. Encaremos, a segui r, a economi a de mo-de-obra. Tudo o
que fi cou di to das vantagens obti das por um grande estabel eci mento,
no uso de mqui nas al tamente especi al i zadas, se apl i ca i gual mente
mo-de-obra al tamente especi al i zada. El a pode empregar conti nuamen-
te os seus empregados nos trabal hos mai s di f cei s de que sejam capazes,
e, ai nda assi m, l i mi tar a tal ponto suas tarefas que possam consegui r
a faci l i dade e perfei o que s se al canam atravs de uma l onga pr-
ti ca. Mas j di ssemos o sufi ci ente sobre as vantagens da di vi so do
trabal ho e podemos agora passar a tratar da mui to i mportante, ai nda
que i ndi reta, vantagem que um i ndustri al obtm em manter a seu
servi o um grande nmero de pessoas.
O grande i ndustri al tem mui to mai s probabi l i dades que um pe-
queno de consegui r homens com excepci onai s apti des naturai s para
que executem a parte mai s di f ci l de seu trabal ho, aquel a de que mai s
depende a reputao do seu estabel eci mento. I sso por vezes i mpor-
tante, mesmo a respei to de si mpl es trabal ho manual , nas i ndstri as
que requerem mui to gosto e ori gi nal i dade, como so, por exempl o, as
de decorao de i nteri ores, e nas que recl amam mo-de-obra excepci o-
nal mente hbi l , como a do fabri cante de mecani smo del i cado.
294
Mas
na mai ori a dos negci os a i mportnci a mai or da referi da vantagem
resi de na faci l i dade que d ao empregador para a escol ha de homens
hbei s e experi entes, nos quai s el e confi e e que confi em nel e, para seus
capatazes e chefes de seo. Chegamos assi m ao probl ema central da
moderna organi zao de i ndstri a, a saber, o que se refere s vantagens
e desvantagens da subdi vi so do trabal ho de admi ni strao de empresas.
4. O di ri gente de uma grande empresa pode reservar toda a
sua energi a para os mai ores e mai s fundamentai s probl emas de sua
MARSHALL
331
293 Ver Li vro Quarto. Cap. XI I , 3.
294 Assi m Boul ton, em 1770, quando ti nha de 700 a 800 pessoas empregadas como arti stas
operri os nos ramos de metai s, arti gos de tartaruga, pedras, vi dro e esmal te, escreveu:
Tenho preparado mui tos bons operri os de si mpl es moos do campo e estou preparando
outros mai s; e sempre que encontro i nd ci os de apti do e habi l i dade, eu os esti mul o. Estou
i gual mente em correspondnci a com quase todas as ci dades mercanti s da Europa, e assi m
recebo regul armente pedi dos dos arti gos de procura mai s comum, o que me possi bi l i ta
empregar tal nmero de mos que posso fazer uma escol ha ampl a de arti stas para as
funes mai s del i cadas do servi o: e assi m sou encorajado a eri gi r e apl i car um aparel ha-
mento mai or do que seri a prudente empregar para a produo apenas dos arti gos mai s
fi nos. SMI LES. Life of Boulton. p. 128.
i ndstri a: el e deve, na verdade, estar seguro de que seus gerentes,
empregados e capatazes so os homens qual i fi cados para os respecti vos
servi os, e os esto real i zando bem, mas, afora i sso, no preci sa se
preocupar mui to com detal hes. Pode manter sua mente cl ara e fri a
para pensar sobre os mai s di f cei s e vi tai s probl emas do seu negci o;
estudar os grandes movi mentos do mercado, as conseqnci as ai nda
i ndefi ni das dos aconteci mentos correntes no pa s e no exteri or; e i ma-
gi nar como mel horar a organi zao das rel aes i nternas e externas
da sua empresa.
Para grande parte dessas funes, o pequeno empresri o, se ti ver
capaci dade, no tem tempo; no pode fazer um estudo to ampl o do
setor de sua i ndstri a nem ol har to l onge; deve freqentemente con-
tentar-se em segui r os outros. Tem que despender mui to tempo em
trabal ho rel ati vamente i nferi or, poi s, para ter xi to, seu esp ri to deve
ser sob certos aspectos de uma al ta qual i dade, e deve ter uma certa
capaci dade de cri ao e de organi zao; e, contudo, ai nda tem que
efetuar mui to trabal ho de roti na.
Por outro l ado, o pequeno empresri o tem vantagens que l he so
prpri as. O ol ho do patro est em toda a parte; seus contramestres
e operri os no se esqui vam s obri gaes, a responsabi l i dade no se
di vi de, no h um vai vm de ordens mal compreendi das de um de-
partamento para outro. Economi za mui ta contabi l i dade e quase todo
o i ncmodo si stema de papel ri o necessri o a uma grande fi rma; e o
ganho que da advm de grande i mportnci a em i ndstri as que uti -
l i zam os metai s mai s val i osos e outros materi ai s caros.
Se bem que sempre fi que em grande desvantagem quanto ob-
teno de i nformaes e real i zao de experi nci as, nesse terreno o
curso geral do progresso vem em seu favor. Poi s as economi as externas
esto constantemente crescendo em i mportnci a rel ati vamente s i n-
ternas, em todos os campos da ci nci a dos negci os: jornai s, publ i caes
profi ssi onai s e tcni cas de todos os gneros esto permanentemente
observando por el e e trazendo-l he os conheci mentos de que preci sa
conheci mentos que h pouco tempo estavam al m do al cance de quem
quer que no pudesse ter agentes bem pagos em mui tas l ocal i dades
di stantes. Da mesma sorte, do seu i nteresse que, em geral , o segredo
dos negci os esteja di mi nui ndo e que os mai s i mportantes aperfei oa-
mentos nos mtodos raros permaneam secretos depoi s de passada a
fase experi mental . de sua conveni nci a que as transformaes na
manufatura dependam menos de si mpl es regras emp ri cas e mai s dos
l argos desenvol vi mentos de pri nc pi os ci ent fi cos, e mui tos destes so
real i zados por estudi osos na procura do conheci mento em si , e so
prontamente publ i cados no i nteresse geral . Assi m, poi s, ai nda que o
pequeno i ndustri al raramente possa estar frente na corri da do pro-
gresso, el e no preci sa estar di stanci ado, se tem tempo e capaci dade
para aprovei tar por si as faci l i dades modernas de obter conheci mentos.
OS ECONOMISTAS
332
Mas certo que preci sa ser excepci onal mente dotado para fazer i sso,
sem negl i genci ar os detal hes menores, mas necessri os, do seu negci o.
5. Na agri cul tura e outros negci os nos quai s um homem no
obtm grandes economi as pel o aumento da escal a de sua produo,
freqentemente ocorre permanecer a empresa do mesmo tamanho por
mui tos anos, se no por mui tas geraes. Mas outra coi sa o que
acontece em outros negci os nos quai s uma grande empresa pode al -
canar vantagens mui to i mportantes, que esto al m do al cance de
uma pequena empresa. Um homem novo, abri ndo cami nho em tal ramo
de negci o, tem que apl i car toda a sua energi a e versati l i dade, sua
ati vi dade e seu zel o pel os pequenos detal hes, contra as mai ores eco-
nomi as que seus ri vai s sacam do capi tal mai or, da mai s el evada es-
peci al i zao do maqui nri o e da mo-de-obra, e das suas mai ores re-
l aes comerci ai s. Se ento puder dobrar sua produo e vend-l a aos
n vei s de preo anteri ores, ter mai s que dupl i cado o seu l ucro. I sso
aumentar o seu crdi to com os banquei ros e outros prestami stas avi -
sados, o habi l i tar a expandi r mai s o negci o, e a obter tambm novas
economi as, e ai nda l ucros mai s el evados: e i sso por sua vez far crescer
a empresa, e assi m por di ante. Parece pri mei ra vi sta que no
fi xado um ponto em que preci se parar. E verdade que se, medi da
que a empresa cresceu, suas apti des se adaptaram esfera mai s
ampl a como se havi am adaptado mai s estrei ta, se el e conservou a
ori gi nal i dade, a fl exi bi l i dade e a capaci dade de i ni ci ati va, a perseve-
rana, o tato e a boa sorte por mui tos anos ai nda, ento el e pode
abarcar todo o vol ume da produo do ramo, na sua regi o. E se seus
produtos no so de transporte ou de venda mui to di f ci l , el e pode
estender mui to sua rea, e ati ngi r qui um l i mi tado monopl i o; mo-
nopl i o l i mi tado porque um preo mui to al to trari a produtores ri vai s
ao seu campo.
Mas bem antes que ati nja esse fi m, seu progresso est sujei to a
ser suspenso pel a decadnci a, se no de suas facul dades, ao menos da
di sposi o para o trabal ho ri goroso. O progresso de sua fi rma pode ser
prol ongado, se el e a pode passar a um sucessor aproxi madamente to
enrgi co quanto el e.
295
Mas o cont nuo e rpi do cresci mento de sua
fi rma requer a presena de duas condi es que raro esto associ adas
numa mesma i ndstri a. Em mui tas i ndstri as um produtor i ndi vi dual
pode consegui r consi dervei s economi as i nternas medi ante um grande
aumento de sua produo; em mui tas el e pode dar sa da faci l mente a
essa produo; h poucas, entretanto, em que el e possa fazer as duas
coi sas. E i sso no um resul tado aci dental , mas quase necessri o.
Com efei to, na mai ori a das i ndstri as nas quai s as economi as
MARSHALL
333
295 Os mei os para i sso e suas l i mi taes prti cas so estudados na l ti ma parte do cap tul o
segui nte.
da produo em l arga escal a so de i mportnci a pri mordi al , a comer-
ci al i zao di f ci l . H, sem dvi da, excees i mportantes. Um produtor
pode, por exempl o, obter acesso a todo um grande mercado, no caso
de mercadori as to si mpl es e uni formes que possam ser vendi das por
atacado em vastas quanti dades. Mas a mai ori a dos bens dessa cl asse
consti tu da de matri as-pri mas; e quase todos os demai s so si mpl es
e comuns, como os tri l hos de ao ou a chi ta, e sua produo pode ser
reduzi da roti na, justamente porque so si mpl es e comuns. Portanto,
nas i ndstri as que os produzem, nenhuma fi rma se pode manter se
no esti ver equi pada com custoso aparel hamento aproxi madamente do
l ti mo ti po para o seu pri nci pal trabal ho, enquanto as operaes se-
cundri as podem ser real i zadas por i ndstri as subsi di ri as. Em suma,
no resta grande di ferena entre as economi as poss vei s a uma fi rma
grande e uma mui to grande. A tendnci a das grandes fi rmas a el i mi nar
as pequenas j foi to l onge a ponto de esgotar aquel as foras que
ori gi nal mente promovi am tai s di ferenas.
Mui tas mercadori as, porm, a cujo respei to a tendnci a do ren-
di mento crescente atua fortemente, so mai s ou menos especi al i dades:
al gumas del as objeti vam cri ar novas necessi dades ou sati sfazer anti gas
de manei ra nova. Al gumas outras so adaptadas a gostos especi ai s e
nunca podem ter um mercado mui to grande, e outras tm qual i dades
que no so faci l mente apreci vei s, e s l entamente conqui stam o favor
pbl i co. Em todos esses casos, as vendas de cada empresa so l i mi tadas,
mai s ou menos de acordo com as ci rcunstnci as, ao mercado especi al
que el a l enta e custosamente conqui stou; e embora a produo pudesse
ser aumentada economi camente de manei ra mui to rpi da, as vendas
no o poderi am.
Fi nal mente, as mesmas condi es de uma i ndstri a que habi l i tam
uma fi rma nova a consegui r prontamente efetuar novas economi as de
produo, tornam tal fi rma suscet vel de ser supl antada rapi damente
por fi rmas ai nda mai s recentes com mtodos ai nda mai s novos. Nota-
damente onde as poderosas economi as da produo em l arga escal a
so associ adas ao uso de novos i nstrumentos e novos mtodos, uma
fi rma que perdeu a excepci onal energi a com que se pde el evar est
sujei ta em breve tempo a decai r rapi damente. A pl ena prosperi dade
de uma grande fi rma raramente dura mui to.
6. As vantagens que uma grande empresa tem sobre uma pe-
quena so mani festas na i ndstri a manufaturei ra porque, como obser-
vamos, el a tem faci l i dades especi ai s para concentrar uma grande soma
de trabal ho numa pequena rea. Mas h uma forte tendnci a para os
grandes estabel eci mentos el i mi narem os pequenos em mui tas outras
i ndstri as. Em parti cul ar o comrci o a varejo est sendo transformado,
perdendo l ugar di a a di a o pequeno l oji sta.
Vejamos as vantagens que uma grande l oja de varejo ou empri o
OS ECONOMISTAS
334
tem ao concorrer com seus vi zi nhos menores. Para comear, el a pode
evi dentemente comprar em mel hores condi es, pode transportar suas
mercadori as mai s barato, e pode oferecer uma vari edade mai or para
atender ao gosto dos consumi dores. Depoi s, el a faz uma grande eco-
nomi a de mo-de-obra: o pequeno l oji sta, tal como o pequeno i ndustri al ,
gasta mui to do seu tempo em trabal ho de roti na que no requer pon-
derao, enquanto o chefe de um grande estabel eci mento, e mesmo
em mui tos casos seus assi stentes, passam todo o tempo a usar do seu
di scerni mento. At recentemente essas desvantagens eram compensa-
das de ordi nri o pel as mai ores faci l i dades de que di spe um l oji sta
para l evar suas mercadori as porta dos consumi dores, de atender s
suas vari adas prefernci as e de conhec-l os sufi ci entemente para com
segurana emprestar-l hes capi tal , sob a forma de venda a prazo.
Mas nos l ti mos anos houve mui tas transformaes, todas favo-
rvei s aos grandes estabel eci mentos. O hbi to de comprar a crdi to
est passando, e as rel aes pessoai s entre l oji sta e cl i ente se tornam
mai s remotas. A pri mei ra mudana representa um grande passo para
a frente; a segunda de l amentar-se, sob certos aspectos, mas no de
todo, poi s em parte devi da ao fato de que, tendo aumentado o respei to
de si mesmo entre as cl asses mai s ri cas, estas no cui dam das atenes
pessoai s subservi entes que costumavam exi gi r. Outrossi m, o crescente
val or do tempo torna as pessoas menos di spostas a gastar horas se-
gui das em compras; agora el as preferem gastar poucos mi nutos fazendo
sua l i sta de pedi dos atravs de um vari ado e detal hado catl ogo, e
i sso pode ser fei to faci l mente graas s grandes faci l i dades para fazer
as encomendas e receber os pacotes pel o correi o e outros mei os. E
quando se di spem a correr as l ojas, carros e bondes esto freqente-
mente mo para conduzi -l as faci l mente e barato s grandes l ojas
centrai s de uma ci dade vi zi nha. Todas essas transformaes tornam
mai s di f ci l do que era para o pequeno vareji sta manter-se, mesmo no
comrci o de provi so e em outros, nos quai s no se exi ge grande va-
ri edade de estoque.
Em mui tos ramos, porm, a vari edade sempre crescente das mer-
cadori as e essas mudanas rpi das de moda que hoje estendem sua
perni ci osa i nfl unci a a quase todas as camadas soci ai s, fazem pender
a bal ana ai nda mai s contra o pequeno negoci ante, poi s el e no pode
manter um estoque sufi ci ente para mui ta vari edade de escol ha, e se
el e tenta segui r de perto os movi mentos da moda, a proporo do seu
estoque rejei tada pel o refl uxo da mar ser mai or do que no caso do
grande vareji sta. Ademai s, em certos ramos, como o das roupas e mo-
b l i as, o crescente barateamento das mercadori as fei tas a mqui na
conduz o povo a comprar coi sas prontas numa grande l oja, ao i nvs
de mandar faz-l as de encomenda em al gum pequeno fabri cante ou
negoci ante da sua vi zi nhana. Do mesmo modo, o grande l oji sta, no
contente de receber os cai xei ros-vi ajantes dos i ndustri ai s, faz excurses
MARSHALL
335
em pessoa ou por i ntermdi o de seu agente s mai s i mportantes regi es
i ndustri ai s no pa s e no exteri or; e assi m di spensa i ntermedi ri o entre
el e e o i ndustri al . Um al fai ate com capi tal moderado oferece aos seus
fregueses mui tas centenas de exempl ares dos mai s modernos teci dos,
e tal vez pea pel o tel grafo que l he seja remeti da, como encomenda
postal , a fazenda escol hi da. Al m di sso, as senhoras no raro compram
as suas fazendas para vesti dos di retamente do fabri cante, e os mandam
confecci onar por costurei ras que di fi ci l mente tm al gum capi tal . Parece
provvel que os pequenos l oji stas conservaro sempre uma parte dos
trabal hos de consertos de pouca monta e conti nuem mantendo uma
boa posi o na venda de al i mentos deteri orvei s, especi al mente s cl as-
ses popul ares, parte em conseqnci a de l hes ser poss vel vender fi ado
e de cobrar pequenos dbi tos. Em mui tos ramos, entretanto, uma fi rma
com um grande capi tal prefere ter mui tas l ojas pequenas a ter uma
grande. As compras, e qual quer produo que for necessri a, so cen-
tral i zadas sob uma di reo ni ca, e os pedi dos excepci onai s so aten-
di dos por uma reserva central , de sorte que cada fi l i al tem l argos
recursos, sem o nus da manuteno de um grande estoque. O gerente
da fi l i al no tem por que desvi ar a sua ateno dos cl i entes, e se
um homem ati vo, com i nteresse di reto no sucesso da sua fi l i al , pode
revel ar-se um formi dvel concorrente para o pequeno l oji sta, como tem
sucedi do em mui tos negci os rel aci onados com vesturi o e al i mentao.
7. Podemos agora consi derar as i ndstri as cuja posi o geogr-
fi ca determi nada pel a natureza do seu trabal ho.
Os carrocei ros do i nteri or e al guns poucos cochei ros so prati ca-
mente os ni cos remanescentes do pequeno empresari ado no ramo do
transporte. Os si stemas ferrovi ri os e de carri s esto conti nuamente
aumentando de tamanho, e o capi tal exi gi do para oper-l os aumenta
numa proporo ai nda mai or. A crescente compl exi dade e vari edade
do comrci o vem aumentar as vantagens que uma grande frota de
navi os sob a mesma di reo ti ra da sua capaci dade de pronta entrega
de mercadori as, e sem di vi so de responsabi l i dade, em mui tos portos
di ferentes; e no que se refere propri amente s embarcaes, o tempo
est do l ado dos grandes navi os, especi al mente no transporte de pas-
sagei ros.
296
Em conseqnci a, os argumentos a favor das empresas do
Estado so mai s fortes em al guns ramos da i ndstri a dos transportes
OS ECONOMISTAS
336
296 A capaci dade de transporte de um navi o vari a proporci onal mente ao cubo de suas di menses,
enquanto a resi stnci a ofereci da pel a gua aumenta somente um pouco mai s rpi do que
o quadrado de suas di menses, de sorte que um grande navi o exi ge menos carvo propor-
ci onal mente sua tonel agem do que um pequeno. Exi ge tambm, rel ati vamente, menor
tri pul ao, especi al mente de navegao: quanto aos passagei ros, oferece-l hes mai or segu-
rana e conforto, escol ha de rel aes num mei o soci al mai s ampl o, e um mel hor servi o
de atendi mento. Em suma, o pequeno navi o no tem possi bi l i dade de competi r com um
grande entre portos prati cvei s faci l mente por estes, e que oferecem um trfego rec proco
bastante para l ot-l os constante e rapi damente.
do que em qual quer outra i ndstri a, sal vo nos si stemas de esgotos,
gua, gs etc.
297
A concorrnci a entre as grandes e as pequenas mi nas e pedrei ras
no mani festou uma tendnci a to cl aramente acentuada. A hi stri a
da admi ni strao estatal das mi nas chei a de pontos sombri os; poi s
a expl orao das mi nas depende bastante da probi dade dos que a di -
ri gem e da energi a e di scerni mento tanto em matri a de detal hes como
em questes de pri nc pi o, para que possa ser bem desempenhada por
funci onri os; e pel a mesma razo, podemos esperar, em i gual dade de
outras ci rcunstnci as, que a pequena mi na ou pedrei ra se mantenha
bem em face da grande. Mas em al guns casos o custo das profundas
perfuraes, da maqui nari a e do estabel eci mento dos mei os de comu-
ni cao so to avul tados que s grandes empresas podem suportar.
Na agri cul tura no h mui ta di vi so de trabal ho, nem produo
em escal a mui to grande; poi s uma chamada grande fazenda no em-
prega a dci ma parte do trabal ho congregado numa fbri ca de di men-
ses moderadas. I sso devi do em parte s condi es naturai s, s mu-
danas das estaes e di fi cul dade de concentrar um grande nmero
de trabal hadores num mesmo l ugar; mas em parte devi do tambm
s causas rel aci onadas com as modal i dades da propri edade fundi ri a.
Ser mel hor adi ar o estudo de todo esse assunto at que abordemos
a procura e a oferta em rel ao com a terra, no Li vro Sexto.
MARSHALL
337
297 caracter sti co da grande transformao econmi ca dos l ti mos cem anos terem as pri -
mei ras l ei s promul gadas sobre estradas de ferro concedi do aos parti cul ares a permi sso
para l i garem nos trens seus vages pri vados, como se fosse uma estrada de rodagem ou
um canal ; enquanto hoje achamos di f ci l i magi nar como se podi a crer, e se acredi tou, com
efei to, na prati cabi l i dade desse di sposi ti vo.
CAPTULO XII
Organizao Industrial (Continuao)
A Direo das Empresas
1. At aqui esti vemos consi derando o trabal ho de di reo das
empresas, pri nci pal mente em rel ao s operaes de uma fbri ca ou
de outro ti po de negci o que empregue grande conti ngente de traba-
l hadores manuai s. Temos agora que consi derar mai s cui dadosamente
as di versas funes que os homens de negci o desempenham, a manei ra
pel a qual essas funes so di stri bu das entre os di ri gentes de uma
grande empresa, bem como entre as di ferentes empresas que cooperam
em ramos associ ados de produo e di stri bui o. I nci dentemente pro-
curaremos i ndagar da razo por que, sendo na i ndstri a pel o menos
os negci os i ndi vi duai s de tendnci a a se fortal ecer medi da que crescem,
enquanto bem di ri gi dos, e assi m se pudesse supor que as grandes fi rmas
expul sari am as pequenas ri vai s, i sto no se real i za na extenso suposta.
Estamos tomando aqui o termo negci o num senti do ampl o, de
modo a i ncl ui r tudo o que prov as necessi dades de outrem, na expec-
tati va de obter um pagamento di reto ou i ndi reto daquel es a quem
benefi ci a. Uti l i zamos o termo, portanto, em contraste sati sfao das
prpri as necessi dades que cada um promove por si mesmo e com os
graci osos servi os prestados por ami zade ou por afei o fami l i ar.
O arteso pri mi ti vo di ri gi a el e prpri o todo o seu negci o, mas
como seus fregueses, com pouqu ssi mas excees, eram todos seus vi -
zi nhos, como necessi tava de um capi tal mui to pequeno, como o pl ano
de produo j estava estabel eci do pel os costumes e como no ti nha
pessoal que supervi si onar fora de sua casa, essas tarefas no consti -
tu am para el e nenhum esforo mental . Estava l onge de gozar de uma
prosperi dade i ni nterrupta: a guerra e a escassez constantemente pres-
si onavam a el e e a seus vi zi nhos, obstacul i zando o seu trabal ho e
di mi nui ndo a procura de seus produtos. Mas estava acostumado a acei -
tar a boa e a m sorte, o mesmo que a chuva e o sol , como coi sas fora
339
de seu control e, de modo que, embora seus dedos trabal hassem sempre,
o crebro raramente se cansava.
Mesmo na I ngl aterra de hoje, encontramos por vezes um arteso
de al dei a que prossegue com esses mtodos pri mi ti vos: fabri ca coi sas por
sua prpria conta e as vende para os vi zinhos, di ri ge seu prpri o negci o
e corre todos os ri scos. Mas tai s casos so raros. Os exempl os mai s sal i entes
das anti gas formas de negoci ar encontram-se entre as profi sses l i berai s,
poi s um mdi co ou um advogado geralmente di ri ge sozinho o seu negci o,
e real i za todo o trabal ho. Esse si stema no dei xa de ter seus i nconve-
ni entes: mui ta ati vi dade val i osa desperdi ada ou mal aprovei tada por
profi ssi onai s que tm uma capaci dade de pri mei ra ordem, mas no a
apti do especi al para fazer rel aes comerci ai s. El e seri am mai s bem
pagos, vi veri am uma exi stnci a mai s fel i z e prestari am mai ores servi os
humani dade se seu trabal ho l hes pudesse ser arranjado por uma espci e
de agente de negci os. Mas, afi nal de contas, tal vez as coi sas estejam
mel hor como esto: h boas razes por detrs do i nsti nto popul ar que
desconfi a da i ntromi sso de um i ntermedi ri o para prestao de servi os
que exi gem as mai s el evadas e mai s del i cadas qual i dades mentai s e que
somente podem chegar a adqui ri r seu verdadei ro val or quando exi ste
uma confiana pessoal absol uta.
Os procuradores i ngl eses, no entanto, agem, se no como empre-
gadores ou empresri os, pel o menos como agentes para contratar nesse
ramo da profi sso l i beral que ocupa o mai s al to posto e cujo trabal ho
i mpl i ca no mai or esforo mental . Da mesma forma, mui tos dos mel hores
educadores vendem os seus servi os no di retamente ao consumi dor
mas di retori a de um col gi o, ou a um di retor, que os contrata. O
empregador fornece ao professor um mercado para o seu trabal ho e
d ao comprador, que tal vez no seja um bom jui z na questo, uma
espci e de garanti a quanto qual i dade do ensi no mi ni strado.
Os arti stas de toda espci e, por emi nentes que sejam, acham fre-
qentemente vantajoso empregar uma pessoa para tratar, em seu nome,
com os cl i entes, da mesma forma que os menos conheci dos s vezes de-
pendem, para vi ver, de negoci antes capi tal i stas, que embora no sejam
arti stas, sabem como vender o trabal ho art sti co com o mai or provei to.
2. Na mai or parte dos negci os do mundo moderno, a tarefa
de di ri gi r a produo de modo que um dado esforo possa ser o mai s
efi caz para a sati sfao das necessi dades humanas preci sa ser di vi di da
e entregue s mos de um corpo especi al i zado de empregadores ou,
para usar um termo genri co, de homens de negci os. El es assumem
ou correm os ri scos, renem o capi tal e a mo-de-obra necessri a ao
trabal ho; organi zam o pl ano geral e o superi ntendem em seus menores
detal hes. De um certo ponto de vi sta, os empresri os podem ser con-
si derados uma categori a i ndustri al al tamente especi al i zada; de outro
OS ECONOMISTAS
340
ponto de vi sta podemos consi der-l os i ntermedi ri os entre o trabal ha-
dor manual e o consumi dor.
H uma cl asse de homens de negci os que assumem grandes
ri scos e exercem grande i nfl unci a sobre o bem-estar tanto dos produ-
tores como dos consumi dores dos produtos com os quai s negoci am, mas
que no so, em grau consi dervel , empregadores de mo-de-obra. O
ti po extremo dessa espci e o corretor da Bol sa de Val ores ou de
mercadori as, cujas compras e vendas di ri as so de ampl as propores,
e que, no entanto, no possui nem fbri ca nem armazm, tendo no
mxi mo um escri tri o, com uns poucos empregados. Os efei tos benfi cos
e mal fi cos da atuao dos especul adores desse gnero so mui to com-
pl exos e podemos, agora, dedi car nossa ateno aos ti pos de negci o
em que a admi ni strao tem uma i mportnci a mai or do que as formas
mai s suti s de especul ao. Tomemos, portanto, al guns exempl os dos
ti pos mai s comuns de negci os e observemos a posi o em que se en-
contra o assumi r ri scos, em rel ao s demai s ati vi dades dos homens
de negci os.
3. A i ndstri a de construo ser um bom exempl o, para o
nosso objeti vo, em parte porque se adere, sob certos aspectos, aos m-
todos pri mi ti vos de negci os. At o fi m da I dade Mdi a era mui to
comum que um parti cul ar constru sse sua prpri a casa, sem o aux l i o
de um mestre-de-obras, e mesmo agora o hbi to no se exti ngui u de
todo. Uma pessoa que resol va construi r sozi nha preci sa contratar se-
paradamente todos os operri os de que necessi ta, vi gi ar o trabal ho
del es e control ar os pedi dos de pagamento; deve adqui ri r materi al de
di ferentes ori gens e al ugar, ou ento dei xar de uti l i zar, equi pamento
de al to preo. Provavel mente pagar mai s do que os sal ri os habi tuai s,
mas onde el e perde outros ganham. H, no entanto, um grande des-
perd ci o no tempo que perde contratando os operri os, experi mentando
e di ri gi ndo um servi o do qual tem um conheci mento i mperfei to, bem
como no tempo que gasta procurando saber a quanti dade e qual i dade
dos di ferentes materi ai s que preci sa adqui ri r, o l ugar onde adqui ri -l os, e
assi m por di ante. Esse desperd ci o evi tado pel a di vi so do trabal ho, que
confere ao construtor profi ssi onal a tarefa de superi ntender esses detal hes
e ao arqui teto profi ssi onal a tarefa de desenhar a pl anta da obra.
Quando as casas so constru das no para moradi a dos seus do-
nos, mas como uma apl i cao de capi tal , a di vi so do trabal ho l evada
ai nda al m. Quando i sso fei to em grande escal a, como, por exempl o,
quando se abre um novo subrbi o, os ri scos e as oportuni dades so
sufi ci entemente grandes para consti tui r uma atrao para os grandes
capi tal i stas, dotados de ti no comerci al , mas que tal vez no possuam
grande conheci mento da i ndstri a de construo. Confi am em seu pr-
pri o jul gamento para deci di r qual ser a rel ao futura entre a oferta
e a procura dos di ferentes ti pos de casas, mas entregam a outras pessoas
MARSHALL
341
a di reo dos detal hes. Empregam arqui tetos e topgrafos para el aborar
pl anos de acordo com suas i nstrues gerai s e, ento, contratam cons-
trutores profi ssi onai s para executarem os pl anos. So el es prpri os,
porm, que correm os pri nci pai s ri scos do negci o e que l he control am
a di reo geral .
4. sabi do que na i ndstri a de l , pouco antes do i n ci o da
era das grandes fbri cas, j havi a essa di vi so de responsabi l i dades:
o trabal ho mai s especul ati vo e os mai ores ri scos de compra e venda
eram assumi dos por empresri os que no eram os empregadores da
mo-de-obra, ao passo que o trabal ho mi nuci oso de superi ntendnci a
e os ri scos mai s l i mi tados de executar os contratos obti dos eram en-
tregues a mestres-tecel es. Esse si stema conti nua a ser segui do em
al guns ramos da i ndstri a txti l , especi al mente naquel es em que h
uma grande di fi cul dade de prever o futuro. Os atacadi stas de Man-
chester se dedi cam ao estudo dos movi mentos da moda, dos mercados
de matri a-pri ma, do estado geral do comrci o, do mercado monetri o,
da pol ti ca e de todos os demai s fatores que podem i nfl ui r nos preos
dos di ferentes ti pos de mercadori as na prxi ma estao. Se for neces-
sri o, empregam depoi s desenhi stas especi al i zados para executar suas
i di as (da mesma manei ra que o especul ador em edi f ci os emprega
arqui tetos, no caso precedente) e fazem contratos com fabri cantes, de
di versas partes do mundo, para a manufatura dos bens nos quai s de-
ci di ram arri scar seu capi tal .
especi al mente nas i ndstri as de vesturi o que vemos um re-
nasci mento do que se chamava i ndstri a domsti ca, que preval eceu
h mui to nas i ndstri as txtei s, i sto , o si stema no qual grandes
empreendedores do trabal ho para ser executado em casa, ou em pe-
quenas ofi ci nas, por pessoas que trabal ham sozi nhas ou auxi l i adas por
al gum membro da fam l i a, ou que tal vez empreguem doi s ou trs au-
xi l i ares remunerados.
298
Em al dei as l ong nquas de quase todos os con-
dados da I ngl aterra, os agentes de grandes empreendedores di ri gem-se
aos seus habi tantes, entregando-l hes materi ai s parci al mente prepara-
dos para a el aborao de toda cl asse de bens, especi al mente de ves-
OS ECONOMISTAS
342
298 Os economi stas al emes chamam essa i ndstri a domsti ca de ti po fbri ca (fabrikmssig)
para di sti ngui -l a da i ndstri a domsti ca naci onal , que uti l i za os i nterval os de outros
trabal hos (especi al mente a i nterrupo, durante o i nverno, dos trabal hos agr col as) para
trabal hos compl ementares, na fabri cao de txtei s e de outras mercadori as (ver Schnberg,
em seu Handbuch, quando trata de Gewerbe). Trabal hadores domsti cos desse l ti mo ti po
eram comuns na I dade Mdi a, por toda a Europa, mas agora esto se tornando raros, a
no ser nas montanhas e na Europa ori ental . Nem sempre sabem escol her bem o seu
trabal ho, e mui to do que el es fazem poderi a ser fei to mel hor, e com menos mo-de-obra,
em fbri cas, para ser vendi do com l ucro num mercado l i vre. Mas a mai or parte do que
fabri cam fei to para seu prpri o uso, ou dos vi zi nhos, e el es economi zam assi m os l ucros
de uma sri e de i ntermedi ri os. Comparar com o arti go de GONNER. Survi val of Domesti c
I ndustri es. I n: Economic J ournal. v. I I .
turi o, tai s como cami sas, col ari nhos e l uvas, e l evam consi go, de vol ta,
os arti gos confecci onados. No entanto, nas capi tai s mai s i mportantes
do mundo e em outras grandes ci dades, especi al mente nas anti gas,
onde h grande quanti dade de mo-de-obra no especi al i zada e no
organi zada, em condi es f si cas e morai s geral mente bai xas, que esse
si stema est mai s desenvol vi do, especi al mente nos ramos de vesturi o
que, s em Londres, empregam 200 mi l pessoas, e nos de mvei s ba-
ratos. H sempre uma l uta entre o si stema domsti co e o de fbri cas,
ora vencendo um, ora outro. Por exempl o, no momento atual , o uso
crescente das mqui nas de costura movi das a vapor est fortal ecendo
a posi o das fbri cas de cal ado, ao mesmo tempo que as fbri cas e
ofi ci nas esto domi nando cada vez mai s o ramo de confeco. Por outro
l ado, a i ndstri a de mal hari a est vol tando a ser fei ta a domi c l i o,
pel as recentes i novaes nas mqui nas de tri c manuai s, e poss vel
que novos mtodos de di stri bui o de energi a por mei o do gs e petrl eo,
bem como de motores el tri cos, venham a i ntroduzi r modi fi caes se-
mel hantes em mui tas outras i ndstri as.
Tal vez surja um movi mento em di reo a si stemas i ntermedi ri os,
semel hantes aos uti l i zados nas i ndstri as de Sheffi el d. Mui tas cute-
l ari as, por exempl o, l di stri buem a afi ao e outras partes do seu
trabal ho, a preos por tarefa, a trabal hadores que al ugam a fora motri z
de que necessi tam, quer da prpri a fi rma que os contrata, quer de
outra fi rma qual quer. Esses trabal hadores por vezes empregam auxi -
l i ares, outras vezes trabal ham sozi nhos.
Do mesmo modo, aquel e que comerci a com o exteri or mui tas vezes
no possui navi os; el e se dedi ca ao estudo das tendnci as dos negci os
e assume os pri nci pai s ri scos, porm entrega o transporte de suas
mercadori as a homens que possuem mai or habi l i dade admi ni strati va
mas no preci sam ter o mesmo poder de prever as menores mudanas
no comrci o i nternaci onal , mesmo correndo, por sua vez, como arma-
dores, grandes e del i cados ri scos comerci ai s. Assi m, tambm, os mai ores
ri scos da publ i cao de um l i vro correm por conta do edi tor, por vezes
associ ado ao autor, ao passo que o i mpressor quem emprega a mo-
de-obra e fornece os ti pos e a maqui nari a de al to preo que o negci o
exi ge. Um si stema al go semel hante adotado em mui tos ramos das
i ndstri as metal rgi cas e nas que fornecem mvei s, vesturi o etc.
Assi m, h mui tas manei ras pel as quai s os que correm os pri n-
ci pai s ri scos de compra e venda podem evi tar o trabal ho de al ojar e
superi ntender os que trabal ham para el es. Todas el as tm as suas
vantagens e, quando os operri os so homens de carter forte, como
os de Sheffi el d, os resul tados no dei xam de ser sati sfatri os. I nfel i z-
mente, quase sempre a pi or cl asse de operri os, os que possuem
menos recursos e menos autocontrol e, os que deri vam para trabal hos
dessa espci e. A el asti ci dade do si stema, que o recomenda ao empre-
MARSHALL
343
sri o, fornece-l he o mei o de exercer uma i ndesejvel presso sobre os
que trabal ham para el e, caso quei ra.
Com efei to, ao passo que o xi to de uma fbri ca depende em
grande parte de um quadro de operri os que a el a se dedi quem esta-
vel mente, o capi tal i sta que di stri bui trabal ho para ser fei to em casa
tem i nteresse em di spor de um grande nmero de pessoas, fi ca tentado
a dar a cada uma pequenas tarefas ocasi onal mente e faz-l as competi r
umas com as outras, o que consegue faci l mente, poi s el as no se co-
nhecem e, portanto, no podem organi zar uma ao conjunta.
5. Quando se di scutem os l ucros de uma empresa, o vul go
associ a-os pessoa que emprega mo-de-obra: empregador consi -
derado freqentemente um termo equi val ente a benefi ci ri o dos l ucros
do negci o. Mas os exempl os que acabamos de estudar so sufi ci entes
para provar que a supervi so da mo-de-obra consti tui apenas uma
parte e, freqentemente, a menos i mportante, da di reo de uma em-
presa, e que o empregador que corre todos os ri scos de seu negci o
real i za, na verdade, em benef ci o da comuni dade, doi s servi os di fe-
rentes, e preci sa possui r uma dupl a apti do.
Vol tando a consi deraes j fei tas (Li vro Quarto. Cap. XI , 4 e
5), o fabri cante que no produz para atender a encomendas mas para
o mercado em geral , preci sa, em seu papel pri mordi al de comerci ante
e de organi zador da produo, ter um conheci mento compl eto das coi -
sas de sua prpri a i ndstri a. Deve ter a facul dade de poder prever
os ampl os movi mentos da produo e do consumo, saber onde h pro-
babi l i dade de fornecer uma nova mercadori a, que i r ao encontro de
uma necessi dade real , ou saber mel horar o si stema de produo de
um vel ho arti go. Deve ser capaz de jul gar com prudnci a e de correr
ri scos corajosamente, al m de entender dos materi ai s e maqui ni smos
uti l i zados em seu ramo.
Em segundo l ugar, no papel de empregador, deve ser um condutor
de homens. Deve ter a facul dade de, pri mei ro, escol her acertadamente
os seus auxi l i ares e, depoi s, confi ar i ntei ramente nel es; i nteress-l os
no negci o e fazer com que confi em nel e, de modo a que uti l i zem todas
as facul dades de i ni ci ati va e i nveno que possu rem enquanto el e
prpri o exerce a di reo geral de todas as operaes e mantm a ordem
e a uni dade na fi nal i dade pri nci pal do negci o.
As apti des necessri as para ser empregador i deal so to gran-
des e to numerosas que poucas pessoas podem possu -l as todas em
al to grau. Sua i mportnci a rel ati va, no entanto, vari a com a natureza
da i ndstri a e as propores do negci o, e enquanto um empregador
possui em al to grau um certo nmero de qual i dades, um segundo em-
pregador possui outras. Di fi ci l mente encontraremos doi s que devem
seu sucesso mesma combi nao de qual i dades. Al guns homens abrem
cami nho atravs de qual i dades nobres, enquanto outros devem sua
OS ECONOMISTAS
344
prosperi dade a qual i dades mui to pouco admi rvei s, a no ser sagaci -
dade e fora de vontade.
Sendo essa, poi s, a natureza geral do trabal ho de admi ni strao
de empresa, temos agora que averi guar que oportuni dades possuem
as di ferentes cl asses de pessoas de desenvol ver capaci dade gerenci al ,
e, tendo-a obti do, quai s as oportuni dades que tm de consegui r o con-
trol e do capi tal necessri o para real i zar-se pl enamente. Podemos, desse
modo, aproxi mar-nos um pouco mai s do probl ema exposto no i n ci o
deste cap tul o e exami nar de perto o curso do desenvol vi mento de uma
fi rma, durante vri as geraes consecuti vas. E essa i nvesti gao pode
ser conveni entemente combi nada com um exame das di ferentes formas
de di reo empresari al . At aqui , consi deramos quasel excl usi vamente
a forma em que toda a responsabi l i dade e control e recai sobre um
ni co i ndi v duo, mas essa forma est cedendo terreno a outras, nas
quai s a autori dade suprema di stri bu da entre vri os sci os, ou mesmo
entre grande nmero de aci oni stas. Empresas pri vadas e soci edades
por aes, soci edades cooperati vas e empresas estatai s assumem uma
parte cada vez mai or na di reo da economi a. Um dos pri nci pai s moti vos
di sso que el as consti tuem um atrati vo para os i ndi v duos dotados
de grande habi l i dade para negci os, mas que no herdaram grandes
oportuni dades comerci ai s.
6. evi dente que o fi l ho de um homem que j est estabel eci do
num negci o tem grandes vantagens sobre os demai s. Desde a juven-
tude possui faci l i dades especi ai s para adqui ri r certos conheci mentos e
para desenvol ver as facul dades necessri as di reo da fi rma paterna.
Aprende, cal ma e quase i nconsci entemente, o que h a aprender sobre
i ndi v duos que fazem parte da fi rma do pai e sua manei ra de agi r,
bem como tudo quanto poss vel saber sobre as fi rmas com as quai s
transaci ona; aprende a i mportnci a rel ati va e o si gni fi cado real dos
di ferentes probl emas e preocupaes que ocupam a mente do pai , e
adqui re um conheci mento tcni co dos processos de fabri cao e do ma-
qui nri o da i ndstri a.
299
Parte do que aprende se apl i ca apenas ao
negci o do pai , mas a mai or parte l he ser ti l em qual quer negci o
semel hante; enquanto as facul dades gerai s de di scerni mento e de i ni -
ci ati va, de esp ri to de empresa, de empreendi mento e de cautel a, de
fi rmeza e de cortesi a, exerci tadas na convi vnci a com os que di ri gem
grandes empresas de qual quer ti po. Al m di sso, os fi l hos de um homem
de negci os bem-sucedi do tm, de i n ci o, um capi tal materi al mai or do
que qual quer outro i ndi v duo, exceto os fi l hos de fam l i as ri cas; estes,
MARSHALL
345
299 J assi nal amos que quase a ni ca aprendi zagem perfei ta exi stente nos tempos modernos
a dos fi l hos de i ndustri ai s, que prati cam quase todas as operaes de i mportnci a l evadas
a efei to na fbri ca, de modo a se tornarem capazes de, no futuro, compreender as di fi cul dades
que seus empregados tm de enfrentar e poder jul gar abal i zadamente o trabal ho destes.
porm, por nasci mento ou por educao, geral mente no gostam mui to
da vi da comerci al , nem tm apti des para el a. Os fi l hos de empresri os,
se conti nuam o trabal ho do pai , possuem ai nda a vantagem de ter
rel aes comerci ai s j estabel eci das.
Pareceri a, portanto, pri mei ra vi sta, que os fi l hos de empresri os
deveri am consti tui r uma espci e de casta, di stri bui ndo entre seus fi l hos
os pri nci pai s postos da di reo das empresas e fundando di nasti as
heredi tri as que regeri am certos ramos de negci os durante vri as
geraes. Mas o atual estado de coi sas mui to di ferente, poi s quando
um homem consegui u montar um grande negci o, comum que seus
descendentes no l ogrem, apesar das vantagens de que fal amos, de-
senvol ver a habi l i dade e a fei o mental i ndi spensvei s para conti nuar
a empresa com o mesmo sucesso. O fundador da empresa provavel mente
foi cri ado por pai s dotados de um carter enrgi co, sob cuja i nfl unci a
pessoal foi educado, e entrou desde cedo em contato com as l utas e
di fi cul dades da vi da. Seus fi l hos, porm, pri nci pal mente se nasceram
depoi s de ter el e enri queci do, e de qual quer sorte seus netos, so en-
tregues aos cui dados de empregados domsti cos que no possuem a
mesma fi bra dos que o educaram. E, ao passo que a sua mai or ambi o
tal vez tenha si do ser bem-sucedi do nos negci os, a dos fi l hos prova-
vel mente ser di sti ngui r-se nos estudos ou na vi da soci al .
300
Durante al gum tempo tudo pode correr bem. Os fi l hos encontram
rel aes comerci ai s sol i damente estabel eci das e, o que tal vez seja mai s
i mportante ai nda, empregados bem escol hi dos e i nteressados no neg-
ci o. Um pouco de assi dui dade e de cautel a conservar a fi rma durante
mui to tempo, graas s tradi es que esta possui . Mas, depoi s de pas-
sada uma gerao, quando as vel has tradi es dei xarem de ser um
gui a seguro, e quando os l i ames que uni am os anti gos empregados j
se ti verem di ssol vi do, o negci o se desmantel ar, a no ser que a di reo
seja entregue a outros homens, que tenham se tornado sci os da fi rma.
Mas, na mai ori a dos casos, seus descendentes chegam a esse
resul tado por um cami nho mai s curto. Preferem ter uma renda, sem
ser preci so despender nenhum esforo, embora pudessem dupl i car essa
renda, dedi cando-se ao trabal ho. Assi m, vendem a fi rma a parti cul ares
ou a uma soci edade anni ma, ou ento tornam-se sci os comandi tri os
da fi rma, ou seja, comparti l ham dos ri scos e dos l ucros, mas no tm
OS ECONOMISTAS
346
300 At pouco tempo havi a na I ngl aterra uma espci e de antagoni smo entre os estudos aca-
dmi cos e a vi da comerci al . Esse antagoni smo est agora di mi nui ndo, graas ao esp ri to
mai s ampl o de nossas uni versi dades e graas ao aumento do nmero de col gi os em nossos
pri nci pai s centros i ndustri ai s. Os fi l hos de empresri os, quando envi ados s uni versi dades,
no aprendem a desprezar a profi sso dos pai s, como costumava acontecer at a gerao
passada. Na verdade, mui tos del es dei xam de se dedi car aos negci os por desejarem au-
mentar os seus conheci mentos. Mas as formas mai s el evadas da ati vi dade mental , as que
so construti vas e no apenas cr ti cas, tendem a uma justa apreci ao da nobreza de um
empreendi mento comerci al bem real i zado.
parte ati va na sua di reo. Em qual quer desses casos, o control e efeti vo
da anti ga fi rma passa s mos de outros homens.
7. O si stema mai s anti go e mai s si mpl es para renovar as energi as
de uma empresa tornar sci os al guns dos empregados mai s capazes. O
autocrti co propri etri o e di retor de um grande estabel eci mento i ndustri al
ou comerci al , medi da que os anos passam, veri fi ca que preci sa del egar
a seus pri nci pai s subordi nados responsabi l i dades cada vez mai ores, em
parte porque o trabal ho a ser fei to cada vez mai s pesado e em parte
porque sua prpri a resi stncia no mai s o que era. Conti nua a exercer
a di reo suprema, mas mui ta coi sa passa a depender da energi a e da
probi dade dos subordi nados. Assi m, se os seus fi l hos no ti verem i dade
sufi ci ente, ou se, por qual quer moti vo, no forem capazes de tomar a si
os encargos da fi rma, el e acaba por deci di r-se a associ ar ao negci o al gum
dos auxi l i ares de mai or confi ana, aliviando assi m seu prprio trabalho
e, ao mesmo tempo, assegurando que a tarefa de sua vi da ser continuada
por pessoas cujos hbi tos mol dou, e pel as quai s pode ter chegado a senti r
uma espci e de afei o paternal .
301
Mas exi stem agora, e sempre exi sti ram, soci edades de pessoas
(private partner ship) consti tu das em termos mai s i gual i tri os: duas
ou mai s pessoas, com i gual dade de mei os e de apti des, renem os
seus recursos para um grande e di f ci l empreendi mento. Em tai s casos,
h freqentemente uma di vi so n ti da no trabal ho da di reo: na i n-
dstri a, por exempl o, um dos sci os se dedi car quase excl usi vamente
ao trabal ho de aqui si o de matri a-pri ma e venda do produto ma-
nufaturado, enquanto o outro se responsabi l i zar pel a di reo da f-
bri ca; e num estabel eci mento comerci al , um dos sci os control ar a
venda por atacado, e o outro, o varejo. Dessa forma e de outras anl ogas,
as soci edades parti cul ares se adaptam a uma grande vari edade de
probl emas; essas associ aes so fortes e el sti cas; ti veram um grande
papel no passado e esto atual mente em pl eno vi gor.
8. Mas, do fi m da I dade Mdi a at o momento atual , tem havi do,
em al guns ramos de negci os, um movi mento para substi tui o por
soci edades anni mas, cujas aes podem ser vendi das a qual quer pessoa
num mercado aberto, as soci edades de pessoas, nas quai s as parti ci -
paes somente so transfer vei s com o consenti mento de todos os i n-
teressados. O efei to dessa transformao foi i nduzi r o pbl i co, sem
MARSHALL
347
301 Mui to dos mai s fel i zes romances da vi da, mui to do que mai s agradvel repi sar na hi stri a
soci al da I ngl aterra, da I dade Mdi a aos nossos di as, est rel aci onado com a hi stri a das
associ aes desse ti po. Mui to jovem foi esti mul ado a segui r uma carrei ra corajosa por
i nfl unci a de bal adas e contos que narram as di fi cul dades e o tri unfo fi nal do aprendi z
fi el , que acabou por se tornar sci o do negci o e, s vezes, por se casar com a fi l ha do seu
patro. No h i nfl unci as de mai or al cance sobre o carter naci onal do que aquel as que
assi m do forma aos i deai s de uma juventude esperanosa.
grandes conheci mentos comerci ai s, a entregar seus capi tai s a outras
pessoas a seu servi o, tendo surgi do assi m uma nova di stri bui o das
di ferentes tarefas de di reo dos negci os.
So os aci oni stas que, em l ti ma i nstnci a, correm os ri scos de
uma soci edade anni ma, mas em regra geral el es no tomam parte
mui to ati va na organi zao do negci o nem no control e de sua pol ti ca
geral , e no parti ci pam da supervi so dos seus detal hes. Desde que o
negci o sai a das mos dos seus promotores pri mi ti vos, o control e
entregue pri nci pal mente a di retores que, se a companhi a for mui to
grande, provavel mente possuem apenas um pequeno nmero de aes,
no tendo a mai or parte del es o conheci mento tcni co necessri o para
o trabal ho a ser fei to. No se espera que el es dedi quem ao negci o
todo o tempo, mas, si m, que contri buam com ampl os conheci mentos
geri as e di scerni mento para resol ver os grandes probl emas rel aci onados
com a pol ti ca que a soci edade deve segui r. Exi ge-se tambm que el es
veri fi quem se os gerentes da companhi a esto executando devi da-
mente o seu trabal ho.
302
Grande parte do trabal ho da organi zao
entregue aos gerentes e seus auxi l i ares, bem como todo o trabal ho de
superi ntendnci a, no sendo necessri o que tenham capi tal empatado
na empresa. Geral mente trata-se de empregados que vo sendo pro-
movi dos aos al tos postos, pel o seu zel o e habi l i dade. Como as so-
ci edades anni mas do Rei no Uni do tm em suas mos gr ande par te
de todos os ti pos dos negci os no pa s, el as ofer ecem gr andes opor -
tuni dades a homens dotados de um tal ento natur al par a a admi -
ni str ao de empr esa mas que no her dar am nenhum capi tal ma-
ter i al , nem r el aes comer ci ai s.
9. As soci edades por aes tm grande el asti ci dade e podem
se expandi r i l i mi tadamente, quando o trabal ho a que se dedi cam oferece
um campo vasto; e esto ganhando terreno em quase todas as di rees.
No entanto, el as tm grande ponto fraco na ausnci a de um conheci -
mento adequado do negci o por parte dos aci oni stas, que correm os
ri scos pri nci pai s. verdade que o chefe de uma grande fi rma parti cul ar
corre os pri nci pai s ri scos do negci o e entrega os detal hes a tercei ros,
mas a sua posi o assegurada pel o poder que possui de opi nar sobre
a fi del i dade e di scri o de seus subordi nados. Se as pessoas a quem
entregou a compra e venda de mercadori as acei tarem comi sses da-
OS ECONOMISTAS
348
302 Bagehot gostava de afi rmar (ver, por exempl o, English Constitution. Cap. VI I ) que um
mi ni stro freqentemente ti ra al guma vantagem de no ter conheci mento tcni co dos negci os
de seu departamento. Com efei to, el e pode obter i nformaes sobre questes de detal he do
seu secretri o permanente e de outros funci onri os sob suas ordens. E conquanto no seja
provvel que se l hes oponha sua opi ni o pessoal , nos assuntos em que a competnci a del es
l hes d vantagem, o seu bom senso sem preconcei tos pode mui to bem se l i bertar das
tradi es admi ni strati vas nos grandes probl emas de i nteresse geral . Da mesma manei ra,
os i nteresses de uma companhi a podem, por vezes, ser mel hor atendi dos por di retores que
no possuem conheci mento tcni co dos detal hes do seu negci o.
quel es com quem negoci am, el e pode descobri r o fato e puni r a fraude.
Se mostrarem al gum favori ti smo e promoverem ami gos i ncompetentes,
ou se el es prpri os se tornarem oci osos e negl i gentes em seu trabal ho,
ou mesmo se no cumpri rem a promessa de capaci dade que o i nduz
a dar-l hes suas pri mei ras ascenses, el e pode descobri r o que est
havendo de errado e pr-l he cobro.
Em todos esses assuntos, porm, os aci oni stas de uma soci edade
anni ma so, sal vo casos excepci onai s, quase i mpotentes, embora al -
guns dos pri nci pai s aci oni stas empenhem-se freqentemente em ave-
ri guar o que est acontecendo e, assi m, exercer um control e efeti vo e
i ntel i gente sobre a admi ni strao geral da empresa. O fato de os al tos
escal es das grandes soci edades anni mas cederem to raramente s
tentaes de cometer fraudes uma forte prova do aumento, nos l ti mos
tempos, do esp ri to de honesti dade e reti do em assuntos comerci ai s.
Se demonstrassem a sofregui do em aprovei tar as oportuni dades de
agi r mal , sequer aproxi mada da que constatamos na hi stri a econmi ca
das ci vi l i zaes pri mi ti vas, o abuso da confi ana nel es deposi tada teri a
si do em to l arga escal a que i mpedi ri a o desenvol vi mento dessa forma
democrti ca de empresa. H todos os moti vos para a esperana de que
essa moral i dade nos negci os conti nue a progredi r, com a ajuda no
futuro, como no passado, da di mi nui o do segredo comerci al e do
aumento da publ i ci dade de toda espci e. Assi m, as formas col eti vas e
democrti cas de admi ni strao empresari al podero expandi r-se com
segur ana em mui tas di r ees em que no o puder am fazer at
agor a, e poder o exceder de mui to os ser vi os que j pr estar am,
abr i ndo um ampl o cami nho a todos aquel es que no possuem van-
tagens por nasci mento.
O mesmo pode ser di to das empresas ofi ci ai s, tanto do Governo
central como dos Governos l ocai s: el as tambm tm um grande futuro
di ante de si , mas at o presente o contri bui nte, que quem corre os
pri nci pai s ri scos, no consegui u exercer um control e efi ci ente sobre
el as, nem funci onri os que faam o seu trabal ho com tanta energi a e
i ni ci ati va como se veri fi ca nas organi zaes pri vadas.
Os probl emas da admi ni strao das grandes soci edades anni -
mas, como os das empresas governamentai s, tm, no entanto, mui tos
aspectos compl exos em que no podemos entrar agora. So probl emas
urgentes, porque o nmero de grandes empresas aumentou ul ti ma-
mente com grande rapi dez, embora no to rapi damente como se supe
comumente. A transformao teve l ugar pri nci pal mente devi do ao de-
senvol vi mento de mtodos e processos i ndustri ai s e de mi nerao, dos
transportes e de di reo dos bancos, que s podem ser postos em prti ca
por grandes capi tai s; outro fator foi o aumento do campo de ao e
das funes dos mercados e das faci l i dades tcni cas de manejo de gran-
des vol umes de mercadori as. O el emento democrti co nas empresas
governamentai s era, a pri nc pi o, extremamente ani mador, mas a ex-
MARSHALL
349
peri nci a mostrou que as i di as e experi nci as cri adoras na tcni ca
comerci al e na organi zao empresari al so mui to raras nos empreen-
di mentos governamentai s, e no mui to comuns em empreendi mentos
parti cul ares que, em conseqnci a da avanada i dade e do grande ta-
manho, adotaram mtodos burocrti cos. Assi m, um novo peri go se de-
senha na di mi nui o do campo da i ndstri a aberto vi gorosa i ni ci ati va
de empresas menores.
A produo na mai s l arga escal a encontra-se nos Estados Uni dos,
onde empresas gi gantes, com al go de monopl i o, so geral mente cha-
madas trustes. Al guns desses trustes nasceram de uma ni ca rai z,
mas a mai ori a del es se desenvol veu pel o aml gama de mui tos negci os
i ndependentes e um pri mei ro passo para essa combi nao foi geral -
mente uma associ ao ou cartel , para usar uma expresso al em,
um tanto vaga.
10. O si stema de cooperati vas procura evi tar os i nconveni entes
desses doi s mtodos de admi ni strao de empresa. Na forma i deal de
associ ao cooperati va, em que mui tos ai nda deposi tam grandes espe-
ranas, mas que at agora pouco foi posta em prti ca, todos ou parte
dos coti stas que correm os ri scos da empresa so empregados por el a.
Os empregados, quer contri buam ou no para o capi tal , materi al da
empresa, tm uma cota nos l ucros e um certo nmero de votos nas
assembl i as gerai s, nas quai s so expostas as di retri zes da empresa
e onde se i ndi cam os encarregados de executar a pol ti ca que se del i -
berou adotar. Assi m, el es so os empregadores e chefes dos seus pr-
pri os gerentes e contramestres, tendo assi m os mei os de jul gar se a
di reo tcni ca da empresa est sendo executada honesta e efi ci ente-
mente, e as mel hores oportuni dades poss vei s para perceber qual quer
rel axamento ou i ncompetnci a na admi ni strao. E, por l ti mo, tornam
desnecessri a parte do trabal ho de superi ntendnci a que i ndi spen-
svel em outras soci edades, poi s seus prpri os i nteresses pecuni ri os
e o orgul ho que tm no xi to de seu prpri o empreendi mento fazem
com que no se esqui vem ao trabal ho, nem tol erem que seus compa-
nhei ros o faam.
I nfel i zmente, o si stema apresenta grandes di fi cul dades que l he
so i nerentes. Sendo a natureza humana o que , os prpri os empre-
gados nem sempre so os mel hores chefes de seus contramestres e
gerentes; as ri val i dades e os ressenti mentos por repri mendas so sus-
cet vei s de atuar como gros de arei a que se houvessem mi sturado ao
l eo l ubri fi cante das peas de uma mqui na grande e compl i cada. O
trabal ho mai s rduo da admi ni strao empresari al geral mente o que
menos aparece, e os que exercem uma ati vi dade manual tendem a
desval ori zar a i ntensi dade da tenso nervosa que o mai s al to trabal ho
de coordenar a empresa acarreta, de modo que se revol tam por verem
esse trabal ho pago aproxi madamente com o mesmo sal ri o com que
OS ECONOMISTAS
350
seri a pago em outra empresa. E, na real i dade, os gerentes de uma
soci edade cooperati va raramente tm o esp ri to to al erta i nventi -
vi dade e versati l i dade dos mai s hbei s daquel es homens que foram
sel eci onados na l uta pel a sobrevi vnci a, e que foram adestrados pel a
l i vre e pl ena responsabi l i dade de uma empresa pri vada. em parte
por esses moti vos que o si stema cooperati vo raramente foi l evado a
efei to i ntegral mente, e a sua apl i cao parci al no consegui u ai nda
obter um sucesso assi nal ado, a no ser no varejo de arti gos de consumo
dos operri os. Nos l ti mos anos, porm, j se constatam si nai s enco-
rajadores de sucesso de verdadei ras associ aes, ou co-parti ci paes
(coparternships), de produo.
Os operri os de carter fortemente i ndi vi dual i sta, cujos esp ri tos
concentrados quase total mente em seus prpri os assuntos, encontraro
tal vez o cami nho mai s rpi do e mai s fci l para a obteno de um
sucesso materi al i ni ci ando um negci o como pequenos empresri os, ou
empregando-se numa fi rma e nel a conqui stando posi es. Mas a coo-
perao apresenta um atrati vo especi al para aquel es em cujo tempe-
ramento predomi na o el emento soci al , e que no desejam se separar
de seus anti gos companhei ros, preferi ndo trabal har junto del es, na
qual i dade de chefes. Esse i deal , em certos aspectos, mai s nobre do
que os seus resul tados, poi s i ndubi tavel mente tai s i ndi v duos so mo-
vi dos por moti vos de ordem ti ca. O verdadei ro cooperati vi sta combi na
um agudo senso comerci al com um esp ri to dotado de uma f si ncera
e al gumas soci edades cooperati vas foram mui to bem servi das por ho-
mens de grande gni o i ntel ectual e moral , homens que, por causa
da f que ti nham nas cooperati vas, trabal haram com grande habi l i dade
e energi a, e com perfei ta reti do, contentando-se com um sal ri o mui to
menor do que o que teri am como gerentes comerci ai s por sua prpri a
conta, ou numa fi rma parti cul ar. Encontram-se mai s comumente ho-
mens desse ti po entre os empregados das soci edades cooperati vas do
que em outras ocupaes, e embora mesmo nessas cooperati vas el es
no sejam mui to comuns, podemos esperar que a di fuso dos verda-
dei ros pri nc pi os da cooperao e o aumento geral da educao acabem
por preparar grande nmero de cooperati vas capazes de l i dar com os
probl emas compl exos da di reo de uma empresa.
Enquanto i sso, mui tas apl i caes parci ai s do pri nc pi o cooperati vo
vo sendo tentadas sob vri as condi es, cada uma das quai s apresenta
um novo aspecto de organi zao comerci al . Assi m, sob o si stema de
Parti ci pao nos Lucros, uma fi rma parti cul ar, embora conservando
a di reo do negci o, paga aos empregados o sal ri o corrente no mer-
cado, por horas de trabal ho ou tarefa, e concorda ai nda em di vi di r
entre el es uma certa porcentagem dos l ucros que venha a ter aci ma
de um m ni mo prefi xado. de se esperar que uma fi rma dessa natureza
tenha uma recompensa tanto materi al como moral , atravs da di mi -
nui o de atri tos entre empregados e empregadores, da mai or boa von-
MARSHALL
351
tade, por parte dos operri os, de real i zar pequenas tarefas para as
quai s no foram contratados, mas que tm um certo i nteresse para a
fi rma, e por fi m atrai ndo para si operri os de uma habi l i dade e ope-
rosi dade mai or do que a mdi a.
303
Outro si stema, parci al mente cooperati vo, o empregado em certas
fbri cas de fi ao de al godo em Ol dham. Trata-se, na real i dade, de
soci edades anni mas, mas entre os seus aci oni stas h mui tos operri os
que tm um conheci mento especi al do ramo, ai nda que, freqentemente,
prefi ram no se empregar nas fbri cas das quai s so, em parte, pro-
pri etri os. Outro exempl o o dos estabel eci mentos fabri s pertencentes
s l ojas cooperati vas, por i ntermdi o de seus agentes, as soci edades
cooperati vas de atacadi stas. Nas cooperati vas de atacadi stas escocesas,
mas no nas i ngl esas, os operri os, como tai s, tm al guma parti ci pao
na di reo e nos l ucros das operaes.
Mai s adi ante teremos que estudar todas essas di versas formas
cooperati vas e semi cooperati vas de negci os mai s detal hadamente, e
averi guar as causas de seu xi to ou fracasso em di ferentes cl asses de
negci o, no atacado e no varejo, na agri cul tura, na i ndstri a e no co-
mrci o. Mas no devemos prossegui r nessa i ndagao agora. J foi
di to o sufi ci ente para demonstrar que o mundo s agora comea a
capaci tar-se para o mai s al to l abor do movi mento cooperati vo, e que
poss vel esperar razoavel mente que as di ferentes formas de coope-
rati va sejam mai s bem-sucedi das no futuro do que o foram no passado;
que el as ofeream aos operri os oportuni dades de aprender prati ca-
mente a di ri gi r uma empresa, a ganhar a confi ana dos outros e, pouco
a pouco, a ati ngi r posi es em que suas apti des comerci ai s sejam
aprovei tadas.
11. Quando se fal a da di fi cul dade que um operri o tem para
se el evar a um posto em que possa exercer compl etamente as suas
apti des, geral mente d-se nfase fal ta de capi tal , mas nem sempre
essa a pri nci pal di fi cul dade. Por exempl o, as soci edades cooperati vas
de di stri bui o acumul aram um vasto capi tal , para o qual tm di fi cul -
dade de obter uma boa taxa de juros, e emprestari am prazerosamente
a um grupo de operri os que provasse ser dotado da capaci dade de
resol ver probl emas comerci ai s di f cei s. Cooperadores que possuem, pri -
mei ro, um el evado grau de habi l i dade profi ssi onal e de probi dade e,
em segundo l ugar, o capi tal pessoal de uma boa reputao entre seus
companhei ros por essas qual i dades, no tero di fi cul dade em consegui r
o capi tal materi al necessri o para montar uma empresa i mportante:
a verdadei ra di fi cul dade est em convencer um nmero sufi ci ente dos
que os rodei am de que el es possuem essas qual i dades raras. E o caso
OS ECONOMISTAS
352
303 Comparar com SCHLOSS. Methods of I ndustrial Remuneration; e com GI LMAN. A Dividend
to Labour.
no mui to di ferente de quando um i ndi v duo procura obter, das fontes
comuns, o emprsti mo do capi tal necessri o para comear um negci o.
verdade que em quase todos os ramos de negci o a soma de
capi tal necessri a para se i nstal ar aumenta i ncessantemente; mas a
massa de capi tai s que pertence a pessoas que no preci sam servi r-se
del es, e que esto di spostas e emprest-l os a um juro cada vez mai s
bai xo, aumenta mai s rapi damente ai nda. Mui tos desses capi tai s passam
para as mos de banquei ros, que prontamente os emprestam a qual quer
um de cuja capaci dade comerci al e honesti dade estejam convenci dos.
Para no fal ar no crdi to que poss vel obter, em mui tas i ndstri as,
dos que fornecem as matri as-pri mas ou estoques necessri os, de modo
que as oportuni dades de obter um emprsti mo di reto so atual mente
to grandes que o aumento do capi tal necessri o para montar uma
empresa no consti tui um obstcul o mui to sri o para uma pessoa que
tenha transposta a di fi cul dade i ni ci al de adqui ri r a reputao de ser
capaz de apl i car bem o di nhei ro que l he emprestaram.
Um obstcul o ascenso do operri o, que tal vez seja mai or, em-
bora no to evi dente, a compl exi dade crescente dos negci os. O
chefe de uma empresa tem, agora, que pensar numa poro de coi sas
com as quai s anti gamente no preci sava se preocupar, e estas so
exatamente a espci e de di fi cul dades para as quai s o trei no nas ofi ci nas
no d nenhum preparo. A i sso preci so obter o rpi do progresso da
i nstruo nas cl asses operri as, no apenas a i nstruo escol ar, mas,
o que mai s i mportante, a educao ps-escol ar, fei ta atravs de jornai s,
de soci edades cooperati vas, de si ndi catos e outros mei os.
Cerca de trs quartas partes da popul ao total da I ngl aterra
pertencem cl asse dos assal ari ados, e desde que estejam bem al i men-
tados, devi damente al ojados e educados, possuem grande parte da fora
nervosa que a matri a-pri ma da habi l i dade mercanti l . Sem sai r de
seu cami nho, todos el es so, consci ente ou i nconsci entemente, candi -
datos a postos de di reo de empresa. O operri o comum, caso de-
monstre habi l i dade, passa a ser contramestre e, da , pode passar a
gerente, e depoi s pode chegar a associ ar-se ao patro. Ou ento, tendo
fei to al guma economi a ou poupana, pode abri r uma dessas l oji nhas
que, em bai rros operri os, conseguem manter-se, abastec-l a graas
ao crdi to e fazer com que sua mul her tome conta del a durante o di a,
ao passo que el e trabal har l durante a noi te. Dessa forma, ou de
outra qual quer, poder vi r a aumentar seu capi tal , at consegui r montar
uma pequena ofi ci na ou fbri ca. Desde que tenha um bom comeo,
ver que os bancos no opem di fi cul dade a l he conceder crdi to. Preci sa
de tempo, e como provavel mente no poder montar seu negci o antes
da maturi dade, preci sa vi ver mui to tempo e possui r uma consti tui o
forte. Mas se possui r esses predi cados e, al m di sso, ti ver paci nci a,
MARSHALL
353
engenho e sorte, consegui r certamente reuni r um bom capi tal antes
de morrer.
304
Numa fbri ca, os que executam trabal hos manuai s tm
mai ores oportuni dades de chegar a postos de comando do que os guar-
da-l i vros e outros empregados que a tradi o soci al consi dera tendo
uma posi o mel hor. Mas nas empresas comerci ai s o caso outro: o
trabal ho manual nel as exerci do no tem, vi a de regra, um carter
educati vo, ao passo que a experi nci a adqui ri da no escri tri o habi l i ta
um i ndi v duo a di ri gi r uma empresa comerci al mel hor do que uma
i ndustri al .
Exi ste, portanto, um grande movi mento de bai xo para ci ma. Tal -
vez o nmero de pessoas que sobem rapi damente da posi o de ope-
rri os para a de patres no seja hoje to el evado como anti gamente;
mas o nmero dos que se el evam sufi ci entemente para dar a seus
fi l hos boas oportuni dades de ati ngi r postos mai s el evados mai or do
que era antes. A ascenso compl eta no se efetua to ami de numa
gerao, geral mente exi ge duas, mas o vol ume total do movi mento
ascensi onal provavel mente mai or do que nunca. E tal vez seja mel hor
para a soci edade em conjunto que a ascenso se efetue no transcurso
de suas geraes. Os trabal hadores que, em pri nc pi os do scul o XI X,
se el evaram em to grande nmero cl asse patronal raramente esta-
vam aptos a assumi r postos de mando. Freqentemente eram duros
e ti rni cos, perdi am o control e sobre si mesmos e no eram nem ver-
dadei ramente nobres nem verdadei ramente fel i zes. Seus fi l hos eram
geral mente arrogantes, estri nas e perdul ri os, di ssi pando ri queza em
di verses bai xas e vul gares, tendo os pi ores defei tos da anti ga ari sto-
craci a, sem as suas qual i dades. O contramestre ou superi ntendente,
que preci sa obedecer e mandar ao mesmo tempo, mas que se el eva na
escal a soci al , e percebe que seus fi l hos podero se el evar mai s ai nda,
, de certo modo, mai s i nvejvel do que o pequeno patro. Seu sucesso
menos notri o, mas o trabal ho que real i za , mui tas vezes, mai s
el evado e mai s i mportante para o mundo, enquanto seu carter mai s
OS ECONOMISTAS
354
304 Os al emes di zem que o sucesso nos negci os depende de Geld, Geduld, Genie und Glck.
*
As probabi l i dades que um trabal hador tem de se el evar vari am por vezes com a natureza
do trabal ho, sendo mai ores nas profi sses em que de grande i mportnci a uma ateno
cui dadosa aos detal hes e de pouca i mportnci a conheci mentos vastos, quer de ordem ci en-
t fi ca, quer em rel ao aos movi mentos mundi ai s da especul ao. Assi m, por exempl o, a
economi a e o conheci mento de detal hes prti cos so os el ementos mai s i mportantes para
o sucesso na i ndstri a da cermi ca. Em conseqnci a, mui tos dos bem-sucedi dos nel a
subi ram da bancada de trabal ho como Josi as Wedgwood (ver o depoi mento de G. Wedg-
wood, perante a Comi sso de Educao Tcni ca), e uma observao semel hante foi fei ta a
respei to de mui tas das i ndstri as de Sheffi el d. Mas certos membros das cl asses trabal ha-
doras desenvol vem uma grande capaci dade de assumi r ri scos especul ati vos e, se chegarem
a adqui ri r os conheci mentos graas aos quai s poss vel especul ar com sucesso, freqen-
temente abri ro cami nho passando adi ante de seus ri vai s, que havi am comeado antes
del es. Al guns dos pri nci pai s atacadi stas de pei xe e frutas comearam a vi da como carre-
gadores de fei ra.
*
Di nhei ro, Paci nci a, Engenho e Sorte. (N. dos T.)
del i cado e mai s amvel , sem que seja menos forte. Seus fi l hos so
bem-educados, e se consegui rem ri queza provvel que faam bom
uso del a.
preci so admi ti r, no entanto, que a rpi da expanso das grandes
empresas e, especi al mente, das soci edades anni mas, nos di ferentes
ramos da i ndstri a, tende a fazer com que o operri o capaz e econmi co,
que tenha grandes ambi es para seus fi l hos, procure empreg-l os num
escri tri o. A el es correm o peri go de perder a fora f si ca e o carter,
que vm l i gados a um trabal ho manual construti vo, e de se tornarem
membros banai s da bai xa cl asse mdi a. Mas, se puderem manter i ntata
sua fora, provvel que se tornem l deres no mundo dos negci os,
ai nda que geral mente no na profi sso de seus pai s e, portanto, sem
o benef ci o que l hes proporci onari am tradi es e apti do especi al mente
apropri adas.
12. Quando um homem de grande habi l i dade se encontra
frente de um negci o i ndependente, qual quer que seja o cami nho que
segui u para al can-l o, cedo poder, com um pouco de sorte, dar tai s
provas de sua capaci dade de fazer boa apl i cao de capi tal , que l he
ser fci l tomar emprestada, de uma manei ra ou outra, qual quer quan-
ti a que possa preci sar. Porque consegue bons l ucros, aumenta o capi tal
que possui , e esse aumento uma garanti a materi al para os novos
emprsti mos. O fato de ter el e prpri o consegui do esse acrsci mo faz
com que os credores se tornem menos exi gentes quanto s garanti as
de seus emprsti mos. Natural mente a sorte representa um grande pa-
pel no mundo dos negci os: um homem mui to capaz pode ver as coi sas
se vol tarem contra si , e o fato de estar perdendo di nhei ro di mi nui suas
possi bi l i dades de obter emprsti mo. Se trabal ha em parte com capi tal
emprestado pode mesmo acontecer que seus credores se recusem a
renovar o emprsti mo e el e sucumbi r, por essa forma, ao que teri a
si do um momento de di fi cul dades passagei ras caso esti vesse traba-
l hando apenas com capi tal prpri o.
305
Nessa l uta para se el evar, pode
atravessar uma vi da penosa, chei a de preocupaes e mesmo de ca-
tstrofes. Mas pode demonstrar sua capaci dade no i nfortni o como no
xi to: a natureza humana confi ante e um fato notri o que os homens
esto bastante di spostos a emprestar aos que atravessaram um desastre
fi nancei ro sem perder sua reputao comerci al . Assi m, apesar das vi ci s-
MARSHALL
355
305 O peri go de no ser capaz de renovar os seus emprsti mos, no momento em que mai s
necessi ta del es, col oca-o num estado de i nferi ori dade em rel ao aos que empregam capi tal
prpri o, o que consti tui um i nconveni ente mui to mai or do que a soma que obri gado a
pagar como juro dos emprsti mos fei tos. Assi m, quando chegarmos parte da teori a da
di stri bui o que trata dos ganhos da di reo, veremos que, por esse moti vo e por vri os
outros, os l ucros so superi ores ao juros acresci dos do ganho l qui do da di reo, ou seja,
da remunerao que justo atri bui r s habi l i dades dos homens de negci os.
si tudes, o homem de negci os capaci tado geral mente veri fi ca que, a
l ongo prazo, o capi tal de que di spe cresce em proporo sua habi l i dade.
Enquanto i sso, como vi mos, aquel e que, sendo pouco capaz, di spe
de um grande capi tal , depressa o perde. Tal vez se trate de um i ndi v duo
que poderi a di ri gi r uma pequena empresa usando crdi to, e fazer com
que el a progredi sse, mas se no ti ver capaci dade para resol ver grandes
probl emas, quanto mai or a empresa tanto mai s depressa el e a arrui -
nar. Como regra geral , uma grande empresa s pode ser manti da
atravs de transaes que, depoi s de deduzi dos os ri scos comuns, dei -
xam uma pequena porcentagem de l ucro. Um l ucro pequeno sobre gran-
de operao fei ta rapi damente proporci ona um grande rendi mento a
um homem capaz; e nos negci os em que h possi bi l i dade para apl i -
cao, a concorrnci a l i mi ta ai nda mai s a taxa de l ucros obti dos sobre
o gi ro. Um negoci ante de al dei a pode ter um l ucro de 5% menos sobre
o gi ro do que um seu ri val mai s capaz, mas mesmo assi m consegui r
manter-se. Mas nas grandes empresas comerci ai s e i ndustri ai s nas
quai s h um gi ro rpi do e uma roti na assentada, o l ucro total sobre
o movi mento por vezes to pequeno que uma pessoa que dei xe os
ri vai s passarem adi ante, mesmo por pequena porcentagem, perde soma
el evada em cada gi ro; enquanto nos grandes empreendi mentos que
so di f cei s, que no repousam sobre uma roti na, e que do grandes
l ucros sobre o movi mento quando a di reo hbi l , no do l ucro
nenhum, desde que sejam di ri gi das por um homem cuja habi l i dade
nada tenha de extraordi nri o.
Essas duas sri es de foras, uma aumentando o capi tal control ado
por homens capazes, e outra destrui ndo o capi tal que est nas mos
de homens fracos, tm como resul tado uma mai or correspondnci a entre
a habi l i dade dos empresri os e o tamanho de suas empresas. E quando
acrescentamos a esse fato os i nmeros mei os, j estudados, pel os quai s
um homem de grande apti do comerci al i nata consegue se el evar numa
fi rma parti cul ar ou numa empresa pbl i ca, podemos concl ui r que, em
qual quer l ugar onde haja um trabal ho em grande escal a para ser rea-
l i zado, num pa s como a I ngl aterra, a habi l i dade e o capi tal necessri os
a esse empreendi mento no tardam a aparecer.
Al m di sso, da mesma manei ra que a capaci dade e apti do i n-
dustri al dependem cada vez mai s das facul dades de di scerni mento,
di l i gnci a, i ni ci ati va, prudnci a e fi rmeza de propsi to facul dades
que no so necessri as a uma determi nada profi sso apenas, mas
tei s a todas , o mesmo acontece em rel ao apti do comerci al .
Na real i dade, esta necessi ta mai s das di tas facul dades no especi al i -
zadas do que da habi l i dade e apti do i ndustri ai s nas categori as i nfe-
ri ores, e quanto mai s al to o grau de apti do para os negci os, tanto
mai s vari adas so as suas apl i caes.
Os homens que possuem apti do comerci al e di spem do capi tal
necessri o desl ocam-se, assi m, hori zontal mente, com grande faci l i dade,
OS ECONOMISTAS
356
de um negci o saturado para outro que oferea mai ores oportuni dades.
Tambm verti cal mente el es se desl ocam com faci l i dade, el evando-se
os homens mai s hbei s aos postos mai s i mportantes de seu ramo de
negci o. Vemos, por conseqnci a, mesmo nessa pri mei ra fase de nossa
i ndagao, que h bons moti vos para acredi tar que na I ngl aterra con-
tempornea a oferta de apti des i ndustri ai s, acompanhadas do neces-
sri o capi tal , se adapta por si mesma procura e tem, portanto, um
preo de oferta determi nado.
Fi nal mente, podemos consi derar esse preo de oferta da capaci -
dade comerci al que di spe de capi tai s como consti tu do de trs el e-
mentos. O pri mei ro o preo da oferta do capi tal ; o segundo o preo
da oferta da apti do comerci al e o tercei ro o preo da oferta da
organi zao graas qual a habi l i dade comerci al apropri ada e o capi tal
necessri o podem se encontrar. O preo do pri mei ro desses trs el e-
mentos chamamos de juro; o preo do segundo, tomado em si , pode
ser chamado de ganhos lquidos de administrao; e o preo do segundo
e tercei ro el ementos, tomados em conjunto, ganhos brutos de direo.
MARSHALL
357
CAPTULO XIII
Concluso Correlao Entre as Tendncias ao
Rendimento Crescente e ao Rendimento Decrescente
1. No comeo deste l i vro, vi mos que o rendi mento adi ci onal na
produo de matri as-pri mas que a natureza oferece a um aumento
do capi tal e do trabal ho apl i cados, em i gual dade de outras ci rcunstn-
ci as, tende a l ongo prazo a di mi nui r. No resto do l i vro e especi al mente
nos quatro l ti mos cap tul os, vi mos o reverso da medal ha, ou seja,
como a capaci dade de trabal ho produti vo do homem aumenta com o
vol ume do trabal ho que real i za. Exami nando de i n ci o as causas que
governam a oferta de mo-de-obra, vi mos como cada aumento no vi gor
f si co, mental e moral de um povo aumenta as probabi l i dades, em
i gual dade de outras ci rcunstnci as, de fazer ati ngi r a i dade adul ta um
grande nmero de fi l hos fortes. Vol tando-nos em segui da para o cres-
ci mento da ri queza, observamos como cada aumento desta tende de
di versos modos a tornar um aumento mai or mai s fci l do que antes.
E, por l ti mo, vi mos como cada aumento da ri queza e cada cresci mento
da popul ao e da i ntel i gnci a do povo aumentavam as faci l i dades
para al canar uma organi zao i ndustri al al tamente desenvol vi da, a
qual , por sua vez, mui to acrescenta efi ci nci a col eti va do capi tal e
do trabal ho.
Encarando mai s de perto as economi as decorrentes dum aumento
na escal a de produo de qual quer espci e de bens, constatamos que
el as so de duas ordens as dependentes do desenvol vi mento geral
da i ndstri a, e as dependentes dos recursos das casas de negci o i n-
di vi dual mente e da efi ci nci a da sua di reo; i sto , das economi as
externas e internas.
Vi mos como essas l ti mas economi as so suscet vei s de constan-
tes fl utuaes no que se refere a uma fi rma parti cul ar qual quer. Um
homem capaz, ajudado tal vez por al guns gol pes de sorte, consegue
uma posi o sl i da no seu ramo de negci o, trabal ha duro e vi ve so-
bri amente, seu capi tal prpri o cresce rpi do, assi m como ai nda mai s
359
rapi damente o crdi to que l he permi te l evantar mai s capi tal ; rene
em torno de si auxi l i ares de um zel o e de uma habi l i dade aci ma do
comum, os quai s sobem tambm, medi da que o negci o progri de,
confi ando no patro e o patro nel es, dedi cando-se cada qual com ni mo
ao trabal ho para que esteja especi al mente habi l i tado, de manei ra que
as apti des superi ores no sejam desperdi adas em trabal hos fcei s,
e trabal hos di f cei s no sejam confi ados a mos i naptas. Correspon-
dendo a essa cont nua economi a no pessoal , o cresci mento do negci o
traz consi go economi as anl ogas nas mqui nas e i nstal aes especi a-
l i zadas de todas as espci es. Todo processo aperfei oado prontamente
adotado e consti tui a base de mel horamentos ul teri ores. O xi to traz
o crdi to e o crdi to traz o xi to. O crdi to e o sucesso ajudam a manter
os vel hos fregueses e a atrai r novos. O aumento do negci o d grandes
vantagens nas compras; os arti gos fazem propaganda uns dos outros
e assi m decresce a di fi cul dade de achar sa da para el es. O aumento
da escal a do negci o faz crescer rapi damente as vantagens que tem
sobre os concorrentes e bai xar o preo ao qual pode vender. Esse pro-
cesso pode prossegui r at onde possam i r a sua energi a e a sua i ni -
ci ati va, manti da a sua capaci dade i nventi va e organi zadora em toda
a fora e vi vaci dade, at quando os ri scos i nseparvei s do negci o no
l he causem perdas excepci onai s; e se perdurasse cem anos di vi di ri a
com um ou doi s outros mai s todo o ramo da i ndstri a em que se es-
tabel eceu. A l arga escal a da produo l hes possi bi l i tari a grandes economi as
e, contanto que se emul assem ao mxi mo, o pbl i co seri a o mai or bene-
fi ci ri o dessas economi as e o preo das mercadori as bai xari a mui to.
Mas aqui podemos aprender uma l i o das rvores jovens da
fl oresta, que l utam para ul trapassar a sombra entorpecente das suas
vel has concorrentes. Mui tas sucumbem no cami nho, e apenas poucas
sobrevi vem e essas poucas se tornam mai s fortes cada ano, obtm mai s
ar e mai s l uz medi da que crescem e, afi nal , se el evam, a seu turno,
aci ma das vi zi nhas e parecem querer se el evar sempre mai s e tornar-se
sempre mai s fortes proporo que sobem. Mas assi m no acontece.
Uma rvore durar mai s tempo em pl eno vi gor e al canar um tamanho
mai or que outra mas, cedo ou tarde, a i dade se mani festa em todas.
Embora as mai s al tas tenham mel hor acesso l uz e ao ar do que as
suas ri vai s, gradual mente perdem vi tal i dade, e uma aps outra do
l ugar a novas que, apesar de possu rem menos fora materi al , tm a
seu favor o vi o da moci dade.
E o mesmo que ocorre com o cresci mento das rvores, sucedi a
com o dos negci os em regra geral antes do grande desenvol vi mento
recente das grandes soci edades por aes, que no raro fi cam estag-
nadas, mas no morrem com faci l i dade. Atual mente essa regra est
l onge de ser geral , mas ai nda atua em mui tos ramos da i ndstri a e
do comrci o. A natureza ai nda age sobre os negci os i ndi vi duai s, l i mi -
tando a durao da vi da dos seus fundadores e reduzi ndo ai nda mai s
OS ECONOMISTAS
360
a parte de suas vi das durante a qual se mantm o pl eno vi gor das
facul dades. Assi m, depoi s de al gum tempo, a di reo da empresa cai
nas mos de gente com menos energi a e esp ri to cri ador, se no com
menos i nteresse ati vo na sua prosperi dade. Se el a se transforma numa
soci edade por aes, pode reter as vantagens da di vi so do trabal ho,
da mo-de-obra e maqui nari as especi al i zadas, at mesmo ampl i -l as
medi ante novo aumento do capi tal e, sob condi es favorvei s, consegui r
uma posi o permanente e destacada no seu ramo de produo. Mas
provvel que tenha perdi do tanto de sua el asti ci dade e i mpul so pro-
gressi vo que as vantagens j no permaneam excl usi vamente de seu
l ado na concorrnci a com ri vai s mai s jovens e menores.
Quando, poi s, consi deramos as grandes conseqnci as advi ndas
do cresci mento da ri queza e da popul ao sobre as economi as da pro-
duo, o carter geral das nossas concl uses no mui to afetado pel o
fato de mui tas dessas economi as dependerem di retamente do tamanho
dos estabel eci mentos i ndi vi duai s dedi cados produo, e que em quase
todos os ramos h uma constante ascenso e queda de grandes em-
presas, estando al gumas em fase ascendente e outras na descendente,
num dado momento. Poi s em per odos de prosperi dade mdi a, a deca-
dnci a em uma di reo certamente mai s que contrabal anada pel o
progresso em outra.
Enquanto i sso, um cresci mento da escal a geral de produo na-
tural mente aumenta as economi as no dependentes di retamente do
porte i ndi vi dual das casas de negci o. As mai s i mportantes del as re-
sul tam do cresci mento dos ramos de i ndstri a conexos, os quai s se
ajudam mutuamente, seja porque central i zados na mesma l ocal i dade,
seja em qual quer caso porque se uti l i zam das faci l i dades modernas de
comuni cao, ofereci das pel o transporte a vapor, pel o tel grafo e pel a
i mprensa. As economi as geradas por tai s fontes, acess vei s a qual quer
ramo de produo, no dependem excl usi vamente do cresci mento deste.
Entretanto, certo que aumentam rpi da e regul armente com esse
cresci mento e que se reduzem em al guns aspectos, no porm em todos,
quando el e decai .
2. Estes resul tados sero de grande i mportnci a quando che-
garmos ao estudo das causas que regul am o preo de oferta de uma
mercadori a. Teremos que anal i sar cui dadosamente o custo normal de
produo de um arti go, rel ati vamente a um dado vol ume gl obal de
produo, e para i sso teremos que estudar os gastos de um produtor
tpico para aquel e vol ume gl obal . No preci saremos, de um l ado, es-
col her um produtor recente ai nda l utando para fi rmar-se, que trabal ha
com mui tas desvantagens e tem que contentar-se durante al gum tempo
com pouco ou nenhum l ucro, sati sfazendo-se com o fato de estabel ecer
rel aes e dar os pri mei ros passos para a construo de uma prspera
empresa; nem, de outro l ado, preci samos tomar uma fi rma que, gozando
MARSHALL
361
durante l ongo tempo de uma habi l i dade de di reo e de uma boa sorte
excepci onai s, consegui u estabel ecer um vasto negci o e enormes e bem
organi zadas ofi ci nas que l he do superi ori dade sobre quase todas as
ri vai s. Nossa empresa tpica (representative firm) deve ser uma que
tenha ti do uma exi stnci a bastante l onga e razovel xi to, que seja
di ri gi da com habi l i dade normal e que tenha acesso normal s economi as
externas e i nternas pertencentes quel e vol ume gl obal de produo,
l evando-se em conta a cl asse dos arti gos produzi dos, as condi es de
comerci al i zao e o ambi ente econmi co em geral .
Assi m, poi s, uma empresa t pi ca , em certo senti do, uma empresa
mdi a. Mas h mui tas manei ras de i nterpretar o termo mdi a em rel ao
a um negci o. E uma fi rma representati va essa espci e parti cul ar de
fi rma mdi a, para a qual preci samos nos vol tar a fi m de ver at que
ponto as economi as internas e externas da produo em massa se tm
expandi do geral mente na i ndstri a e no pa s em questo. I sso no podemos
observar tomando uma ou duas fi rmas por acaso: mas podemos perfei ta-
mente constat-l o, escol hendo, depoi s de um cui dadoso exame, uma fi rma
i ndi vi dual ou anni ma (ou mel hor ai nda, mai s de uma), que represente,
ao nosso mel hor ju zo, essa mdi a especi al .
A argumentao geral do presente l i vro mostra que um aumento
no vol ume gl obal da produo de qual quer coi sa geral mente aumenta
o tamanho e, portanto, as economi as i nternas de semel hante empresa
representati va; e que aumentar sempre as economi as externas, s
quai s a fi rma tem acesso e, assi m, a capaci ta a produzi r a custo de
trabal ho e sacri f ci o menor que antes.
Em outras pal avras, queremos di zer aproxi madamente que en-
quanto a parte desempenhada pel a natureza na produo apresenta
uma tendnci a ao rendi mento decrescente, o papel do homem tem uma
tendnci a ao rendi mento crescente. A lei do rendimento crescente pode
ser expressa assi m: Um aumento de trabal ho e capi tal l eva geral -
mente a uma organi zao mel hor, que aumenta a produti vi dade da
ao do trabal ho e do capi tal .
Portanto, nas i ndstri as que no se apl i cam extrao de pro-
dutos pri mri os, um aumento de trabal ho e capi tal geral mente rende
aci ma do proporci onal ; e al m di sso essa organi zao mel horada tende
a di mi nui r ou mesmo anul ar qual quer resi stnci a mai or que a natureza
oferea para a obteno de quanti dades superi ores de produtos pri m-
ri os. Se as aes das l ei s do rendi mento crescente e do rendi mento
decrescente se equi l i bram, temos a lei do rendimento constante, e uma
produo mai or obti da por um aumento exatamente proporci onal de
trabal ho e de sacri f ci o.
Poi s as duas tendnci as, para o rendi mento crescente e para o
decrescente, esto constantemente fazendo presso uma contra a outra.
Na produo de tri go e de l , por exempl o, a l ti ma tendnci a domi na
quase excl usi vamente num vel ho pa s que no pode i mportar l i vre-
OS ECONOMISTAS
362
mente. Transformando o tri go em fari nha ou a l em cobertores, um
aumento no vol ume total da produo traz al gumas novas economi as,
mas no mui tas, poi s a moagem do tri go e a fabri cao dos cobertores
j se fazem em to grande escal a que quai squer novas economi as que
se possam obter so mai s efei to de novas i nvenes do que de organi -
zao aperfei oada. Num pa s, porm, em que a i ndstri a de cobertores
est pouco desenvol vi da, as mel hori as de organi zao podem ser i m-
portantes e, ento, pode acontecer que um aumento na produo total
de cobertores di mi nua a di fi cul dade de fabri cao em proporo exa-
tamente i gual em que agrava a da produo da matri a-pri ma. Nesse
caso, as aes das l ei s do rendi mento decrescente e do rendi mento
crescente se neutral i zam exatamente uma outra, e os cobertores se
subordi nam l ei do rendi mento constante. Mas na mai ori a dos ramos
mai s del i cados da i ndstri a, nos quai s o custo da matri a-pri ma de
pequena monta, e na mai or parte das modernas i ndstri as de trans-
porte a l ei do rendi mento crescente age quase sem obstcul o.
306
O Rendi mento Crescente uma rel ao entre a quanti dade de
esforo e sacri f ci o, de um l ado, e, de outro, a quanti dade de produto.
As quanti dades no podem ser cal cul adas exatamente, porque as con-
t nuas mudanas nos mtodos de produo exi gem novo maqui nri o e
mo-de-obra especi al i zada e no especi al i zada de espci es novas e em
novas propores. Mas, fal ando de modo geral , podemos tal vez di zer
vagamente que o produto de uma certa quanti dade de trabal ho e capi tal
numa i ndstri a aumentou tal vez de 1/4 ou de 1/3 nos l ti mos vi nte
anos. Medi r o gasto ou a produo em termos de di nhei ro um recurso
tentador, mas desastroso: poi s uma comparao do di spndi o em di -
nhei ro com os rendi mentos monetri os est sujei ta a resval ar para
uma esti mati va da taxa de l ucro do capi tal .
307
3. Podemos agora sumari ar provi sori amente as rel aes entre
a expanso i ndustri al e o bem-estar soci al . Um rpi do cresci mento da
popul ao freqentemente tem si do acompanhado por hbi tos de vi da
MARSHALL
363
306 Num arti go sobre The vari ati on of producti ve forces, no Quarterly J ournal of Economics,
1902, o prof. Bul l ock sugere que a expresso Economi a da Organi zao deve ser uti l i zada
em l ugar de Rendi mento Crescente. El e mostra cl aramente que as foras que atuam pel o
Rendi mento Crescente no so da mesma ordem que os fatores do Rendi mento Decrescente:
e h casos, sem dvi da, nos quai s mel hor fri sar essa di ferena apresentando as causas
em vez dos resul tados e contrastando a Economi a da Organi zao com a i nel asti ci dade da
forma em que a natureza responde ao cul ti vo i ntensi vo.
307 No h uma regra de que as i ndstri as que do rendi mento crescente apresentem tambm
l ucros crescentes. Sem dvi da uma fi rma vi gorosa, que aumenta a escal a das suas operaes
e obtm i mportantes economi as (i nternas) pecul i ares, apresentar um rendi mento crescente
e uma crescente taxa de l ucro; porque seu crescente rendi mento no afetar substanci al -
mente o preo dos seus produtos. Mas os l ucros tendem a ser bai xos, como veremos adi ante
(Li vro Sexto. Cap. VI I I , 1, 2), em i ndstri as como a de panos l i sos, porque a sua vasta
escal a de produo possi bi l i tou que a organi zao do fabri co e das vendas seja l evada to
l onge que quase se consol i da na roti na.
i nsal ubres e enervantes em ci dades superpovoadas. E por vezes el e
comeou mal , ul trapassando os recursos materi ai s do povo e obri gando
este a exi gi r demasi ado do sol o com equi pamento i mperfei to e, assi m,
a provocar a ao enrgi ca da l ei do rendi mento decrescente a respei to
dos produtos pri mri os, sem ter o poder de reduzi r os seus efei tos.
Tendo assi m comeado em condi es de pobreza, um cresci mento da
popul ao pode chegar s conseqnci as to freqentes de enfraque-
ci mento do carter que i ncapaci ta um povo a desenvol ver uma i ndstri a
al tamente organi zada.
Esses peri gos so sri os. Contudo, conti nua sendo verdadei ro que
a efi ci nci a col eti va de um povo com uma dada fora e energi a i ndi vi dual
mdi a pode crescer mai s do que proporci onal mente ao cresci mento da
popul ao. Se o povo pode, durante certo tempo, escapar l ei do ren-
di mento decrescente, pel a i mportao de al i mentos e outras matri as-
pri mas em boas condi es, se a sua ri queza no consumi da em grandes
guerras, e aumenta ao menos tanto quanto os habi tantes, e se evi ta
hbi tos de vi da que o possam debi l i tar, ento cada aumento da popu-
l ao ser provavel mente, por certo tempo, acompanhado por um au-
mento mai s que proporci onal em sua capaci dade de obter bens mate-
ri ai s. Poi s tal cresci mento o habi l i ta a consegui r as mui tas e vri as
economi as da especi al i zao do trabal ho, da maqui nari a especi al i zada,
da concentrao das i ndstri as e da produo em massa, a ter faci l i -
dades mai ores de comuni cao de todas as espci es, enquanto a que
o acompanha di mi nui o gasto de tempo e de esforo em toda a sorte
de rel aes e l he d novas oportuni dades para di verti mentos soci ai s
e o gozo do conforto e dos regal os da ci vi l i zao, sob todas as formas.
Sem dvi da se deve deduzi r a crescente di fi cul dade de encontrar a
sol i do e a qui etude e mesmo o ar puro: mas h, na mai ori a dos casos,
um sal do de benef ci os.
308
Levando em conta que um aumento da densi dade da popul ao
torna geral mente acess vei s novos prazeres soci ai s, podemos dar um
al cance ai nda mai or a essa observao, e di zer: Um aumento de
popul ao, acompanhado de um aumento i gual dos recursos materi ai s
de prazer e de aux l i os produo, l eva provavel mente a um aumento
mai s que proporci onal do provei to gl obal ti rado de sati sfaes de toda
a ordem; admi ti do, pri mei ro, que possa ser obti do sem grande di fi cul -
dade um supri mento bastante de matri as-pri mas e, segundo, que no
haja superpopul ao causando a debi l i tao f si ca e moral pel a fal ta
de ar puro, de l uz e de recreao saudvel e al egre para a juventude.
OS ECONOMISTAS
364
308 O i ngl s Mi l l fal a com um entusi asmo fora do comum (Political Economy. Li vro Quarto.
Cap. VI , 2) dos prazeres de passear s em mei o de bel os cenri os; e mui tos ameri canos
do descri es pal pi tantes da crescente ri queza da vi da humana quando o desbravador,
habi tante do mato, encontra vi zi nhos se i nstal ando nas proxi mi dades, e o vi l arejo remoto
se transforma em al dei a, a al dei a em ci dades e esta numa metrpol e. (Ver, por exempl o,
CAREY. Principles of Social Science; GEORGE, Henry. Progress and Poverty.)
A ri queza acumul ada dos pa ses ci vi l i zados cresce atual mente
com rapi dez mai or que a popul ao. Embora possa ser verdade que a
ri queza per capita aumentari a ai nda mai s rpi do se a popul ao no
aumentasse to rapi damente, um fato, entretanto, que um aumento
da popul ao conti nuar a ser acompanhado por um aumento mai s
que proporci onal dos fatores materi ai s da produo. E na I ngl aterra,
presentemente, com fci l acesso aos abundantes forneci mentos estran-
gei ros de matri a-pri ma, um aumento da popul ao acompanhado
por um aumento mai s do que proporci onal dos mei os de sati sfazer as
necessi dades humanas, dei xando de l ado as de l uz, ar puro etc. Grande
parte desse aumento , entretanto, atri bu vel no ao cresci mento da
produti vi dade i ndustri al , mas ao da ri queza, que o acompanha: e por
i sso el e no benefi ci a necessari amente os que no parti ci pam dessa
ri queza. Al m di sso, os forneci mentos estrangei ros de matri as-pri mas
I ngl aterra podem ser estorvados pel a pol ti ca comerci al de outros
pa ses e quase i nterrompi dos por uma grande guerra, enquanto o gasto
mi l i tar que o pa s seri a obri gado a fazer para estar bem seguro contra
esse l ti mo ri sco di mi nui ri a apreci avel mente os benef ci os decorrentes
da atuao da l ei do rendi mento crescente.
MARSHALL
365
NDICE
I ntroduo de Ottol my Strauch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PRI NC PI OS DE ECONOMI A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Prefci o pri mei ra edi o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Prefci o oi tava edi o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Sumri o do vol ume I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
LIVRO PRIMEIRO Exame Preliminar
Cap. I I ntroduo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Cap. I I A substnci a da economi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Cap. I I I General i zaes ou l ei s econmi cas . . . . . . . . . . . . . . . 97
Cap. I V A ordem e os objetos dos estudos econmi cos . . . . . . 105
LIVRO SEGUNDO Algumas Noes Fundamentais
Cap. I I ntroduo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Cap. I I A ri queza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Cap. I I I Produo. Consumo. Trabal ho. Arti gos de pri mei ra
necessi dade (necessaries) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Cap. I V Renda. Capi tal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
LIVRO TERCEIRO
Sobre as Necessidades e suas Satisfaes
Cap. I I ntroduo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Cap. I I As necessi dades em rel ao com as ati vi dades . . . . . . 153
Cap. I I I Gradaes da procura por consumi dores . . . . . . . . . . 159
Cap. I V A el asti ci dade das necessi dades
Nota sobre estatstica do consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Cap. V Escol ha entre di ferentes usos de uma mesma coi sa.
Usos i medi atos e usos di feri dos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Cap. VI Val or e uti l i dade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
367
LIVRO QUARTO Os Agentes de Produo:
Terra, Trabalho, Capital e Organizao
Cap. I I ntroduo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Cap. I I A ferti l i dade da terra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Cap. I I I A ferti l i dade da terra (continuao). A tendnci a ao
Rendi mento Decrescente
Nota sobre a lei do rendimento decrescente . . . . . . . . . . . . . 215
Cap. I V O cresci mento da popul ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Cap. V A sade e o vi gor da popul ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Cap. VI A aprendi zagem i ndustri al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Cap. VI I O cresci mento da ri queza
Notas sobre as estatsticas do crescimento da riqueza . . . . 275
Cap. VI I I Organi zao i ndustri al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Cap. I X Organi zao i ndustri al (continuao). Di vi so do
trabal ho. A i nfl unci a da maqui nari a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Cap. X Organi zao i ndustri al (continuao). Concentrao
de i ndstri as especi al i zadas em certas l ocal i dades . . . . . . . 317
Cap. XI Organi zao i ndustri al (continuao). Produo
em l arga escal a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Cap. XI I Organi zao i ndustri al (continuao). A di reo
das empresas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Cap. XI I I Concl uso. Correl ao entre as tendnci as ao
Rendi mento Crescente e ao Rendi mento Decrescente . . . . . 359
OS ECONOMISTAS
368
Você também pode gostar
- Os Grandes Pensadores Da EconômiaDocumento11 páginasOs Grandes Pensadores Da EconômiaPatrick Brainer100% (3)
- Léon Walras - Compêndio Dos Elementos de Economia Política Pura (Os Econoistas)Documento316 páginasLéon Walras - Compêndio Dos Elementos de Economia Política Pura (Os Econoistas)Mateus Ramalho100% (1)
- Pesquisa Biográfica John Maynard KeynesDocumento8 páginasPesquisa Biográfica John Maynard KeynesBruno Turetto Rodrigues100% (1)
- O Pensamento Econômico em Perspectiva - GalbraithDocumento152 páginasO Pensamento Econômico em Perspectiva - GalbraithGustavo Teiga100% (1)
- LIVRO Kalecki Traduzido PDFDocumento282 páginasLIVRO Kalecki Traduzido PDFMarcos Bandeira100% (1)
- A Teoria Do Valor-Trabalho.1Documento16 páginasA Teoria Do Valor-Trabalho.1Sabrina LameirasAinda não há avaliações
- LIBERALISMO - Carl Menger: Princípios de Economia PolíticaNo EverandLIBERALISMO - Carl Menger: Princípios de Economia PolíticaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- O CAPITAL - Karl Marx: Mercadoria, Valor e Mais valiaNo EverandO CAPITAL - Karl Marx: Mercadoria, Valor e Mais valiaNota: 3.5 de 5 estrelas3.5/5 (17)
- IPEA - Clássicos de Literatura Econômica - 2010Documento196 páginasIPEA - Clássicos de Literatura Econômica - 2010Hamilton_Bizarria100% (1)
- Os Economistas - Princípios de Economia Vol IIDocumento448 páginasOs Economistas - Princípios de Economia Vol IIOtaku Exper100% (1)
- 41 John Stuart Mill Principios de Economia Politica Vol I Os Economist AsDocumento479 páginas41 John Stuart Mill Principios de Economia Politica Vol I Os Economist Asrui10costa100% (1)
- Conversa Com EconomistasDocumento448 páginasConversa Com EconomistasBreno Viotto PedrosaAinda não há avaliações
- O Colapso Da Bolsa - GalbraithDocumento115 páginasO Colapso Da Bolsa - GalbraithMalandragem dá um tempo100% (3)
- Aspectos Políticos Do Pleno EmpregoDocumento8 páginasAspectos Políticos Do Pleno EmpregoLucas PessôaAinda não há avaliações
- Exercicios Curso de EconomiaDocumento11 páginasExercicios Curso de EconomiajalvsAinda não há avaliações
- Alfred Marshall - A Teoria Do ValorDocumento10 páginasAlfred Marshall - A Teoria Do ValorTúlio MaroAinda não há avaliações
- Piero Srafa - Produção de Mercadorias Por Meio de MercadoriasDocumento351 páginasPiero Srafa - Produção de Mercadorias Por Meio de Mercadoriasrodolfo_costa_14Ainda não há avaliações
- Economia Monetária - Adriana MoreiraDocumento3 páginasEconomia Monetária - Adriana MoreiraJorge SimõesAinda não há avaliações
- Joseph Alois Schumpeter - Teoria Do Desenvolvimento Econômico (Os Economistas)Documento229 páginasJoseph Alois Schumpeter - Teoria Do Desenvolvimento Econômico (Os Economistas)api-19625304100% (4)
- Karl Polanyi A Nossa Obsoleta Mentalidade MercantilDocumento17 páginasKarl Polanyi A Nossa Obsoleta Mentalidade MercantilJosé Knust100% (3)
- APLs, Políticas Públicas e Desenvolvimento RegionalDocumento405 páginasAPLs, Políticas Públicas e Desenvolvimento RegionalLyss Saraiva100% (2)
- Origem Da ContabilidadeDocumento11 páginasOrigem Da ContabilidadeZilda MateusAinda não há avaliações
- Todd Buccholz - Novas Ideias de Economistas Mortos - David RicardoDocumento15 páginasTodd Buccholz - Novas Ideias de Economistas Mortos - David RicardoMarcella ChagasAinda não há avaliações
- O Capitalismo Tardio (Ernest Mandel)Documento420 páginasO Capitalismo Tardio (Ernest Mandel)Tuan Peres100% (1)
- Fundamentos Da Economia Perguntas e RespostasDocumento12 páginasFundamentos Da Economia Perguntas e RespostasCharles Carvalho100% (1)
- Teorias EconômicasDocumento56 páginasTeorias EconômicasafricanidadesAinda não há avaliações
- CANO, W. Introdução À Economia. Uma Abordagem Crítica CAP 5Documento24 páginasCANO, W. Introdução À Economia. Uma Abordagem Crítica CAP 5Marcelo Manzano100% (1)
- Escolas Da MacroeconomiaDocumento74 páginasEscolas Da MacroeconomiaRicardo Gomes100% (1)
- O Sistema Socioeconômico Cubano (1959-2018): concepção, evolução e situação atualNo EverandO Sistema Socioeconômico Cubano (1959-2018): concepção, evolução e situação atualAinda não há avaliações
- Institucionalismo, desenvolvimentismo e a economia brasileiraNo EverandInstitucionalismo, desenvolvimentismo e a economia brasileiraAinda não há avaliações
- O orçamento como instrumento de intervenção no domínio econômicoNo EverandO orçamento como instrumento de intervenção no domínio econômicoAinda não há avaliações
- Moeda e Sistema Financeiro: ensaios em homenagem a Fernando Cardim de CarvalhoNo EverandMoeda e Sistema Financeiro: ensaios em homenagem a Fernando Cardim de CarvalhoAinda não há avaliações
- Constituição e dívida pública: uma perspectiva sobre austeridade fiscal e a aporia no direito constitucionalNo EverandConstituição e dívida pública: uma perspectiva sobre austeridade fiscal e a aporia no direito constitucionalAinda não há avaliações
- Tributação, Mercado e Mínimo Existencial: Leitura da obra "Lei, Legislação e Liberdade", de Friedrich August von HayekNo EverandTributação, Mercado e Mínimo Existencial: Leitura da obra "Lei, Legislação e Liberdade", de Friedrich August von HayekAinda não há avaliações
- Marshall - Princípios de Economia - IntroduçãoDocumento368 páginasMarshall - Princípios de Economia - IntroduçãoEliel vargas de souzaAinda não há avaliações
- Biografia MArshallDocumento6 páginasBiografia MArshallGabiel BertuccioliAinda não há avaliações
- Alfred MarshallDocumento10 páginasAlfred MarshallMarinaAinda não há avaliações
- Pessimistas Clássicos ValendoDocumento14 páginasPessimistas Clássicos Valendomirorajao100% (1)
- Trabalho Direito EconomicoDocumento5 páginasTrabalho Direito EconomicoConceição SousaAinda não há avaliações
- Grandes Economistas XV Alfred Marshall e A Escola NeoclássicaDocumento10 páginasGrandes Economistas XV Alfred Marshall e A Escola NeoclássicagroovindaAinda não há avaliações
- A Evolução Do Pensamento EconômicoDocumento3 páginasA Evolução Do Pensamento EconômicoDalline MartonAinda não há avaliações
- Compêndio Dos Elementos de Economia Politica Pura - Léon Walras PDFDocumento316 páginasCompêndio Dos Elementos de Economia Politica Pura - Léon Walras PDFleandro26031987Ainda não há avaliações
- Pensadores Da EconomiaDocumento8 páginasPensadores Da EconomiaEdivaldo OliveiraAinda não há avaliações
- Seminário de HistóriaDocumento19 páginasSeminário de Históriajv4187888Ainda não há avaliações
- Aula 02 - ECONOMIA E ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL - Economistas Clásssicos e NeoclassícosDocumento20 páginasAula 02 - ECONOMIA E ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL - Economistas Clásssicos e NeoclassícosNilson XimenesAinda não há avaliações
- Resumo Sobre Os Principais Pensadores Da Economia e Suas Respectivas Escolas Economicas1Documento3 páginasResumo Sobre Os Principais Pensadores Da Economia e Suas Respectivas Escolas Economicas1Rennan TrindadeAinda não há avaliações
- Biografia de Karl MarxDocumento19 páginasBiografia de Karl MarxAndré SáAinda não há avaliações
- Karl Marx - Pesquisa BiográficaDocumento13 páginasKarl Marx - Pesquisa BiográficaLucas CardosoAinda não há avaliações
- Alfred Marshall e A Escola Neoclássica - HPEIIDocumento12 páginasAlfred Marshall e A Escola Neoclássica - HPEIIandregauffAinda não há avaliações
- Evolução Do Pensamento EconômicoDocumento5 páginasEvolução Do Pensamento EconômicoPriscila Cristina SchneiderAinda não há avaliações
- Friedrich ListDocumento12 páginasFriedrich ListJuan WarleyAinda não há avaliações
- Artigo MarxismoDocumento16 páginasArtigo MarxismoRenanHonórioAinda não há avaliações
- Adam Smith - Os Dois Postulados FundamentaisDocumento8 páginasAdam Smith - Os Dois Postulados FundamentaisJackson Gomes de OliveiraAinda não há avaliações
- Glaudionor-Gomes-Barbosa - Regina-Celia-Goncalves Cruzado SarneyDocumento20 páginasGlaudionor-Gomes-Barbosa - Regina-Celia-Goncalves Cruzado SarneyRenara VasconcelosAinda não há avaliações
- Escola Marxista ConcluidoDocumento10 páginasEscola Marxista ConcluidoSaraiva JuniorAinda não há avaliações
- Artigo Sobre Karl MarxDocumento7 páginasArtigo Sobre Karl MarxPaulo AndradeAinda não há avaliações
- Escola Neoclássica - MarshallDocumento65 páginasEscola Neoclássica - MarshallRafaela Hadad BordaloAinda não há avaliações
- Resenha Crítica - A Era Da IncertezaDocumento9 páginasResenha Crítica - A Era Da Incertezaalesuzcal86% (7)