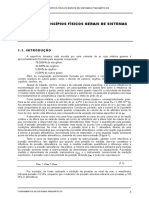Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Amazônia Indices
Amazônia Indices
Enviado por
Lídia LacerdaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Amazônia Indices
Amazônia Indices
Enviado por
Lídia LacerdaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
OBJETIVOS DO MILNIO
Danielle Celentano
Daniel Santos
Adalberto Verssimo
A AMAZNIA E OS
2010
O ESTADO DA AMAZNI A INDI CADORES
Apoio
O ESTADO DA AMAZNI A
INDI CADORES
A AMAZNIA E OS
OBJETIVOS DO MILNIO 2010
Danielle Celentano, Daniel Santos & Adalberto Verssimo
Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amaznia - Imazon
Rua Domingos Marreiros, 2020 Bairro: Umarizal CEP 66060160
Belm Par Brasil Tel.: (91) 3182-4000 Fax: (91) 3182-4027
www.imazon.org.br imazon@imazon.org.br
Copyright 2010 by Imazon
Reviso de Texto:
Tatiana Corra Verssimo
Foto da Capa:
Christian Knepper
Capa e Projeto Grfco
Luciano Silva e Roger Almeida
www.rl2design.com.br
Impresso:
Grfca e Editora Alves
Celentano, Danielle
A Amaznia e os objetivos do Milnio 2010 / Danielle Celentano; Daniel Santos;
Adalberto Verssimo Belm, PA: Imazon, 2010.
88 p.; il.; 21,5 x 28 cm
ISBN 978-85-86212-34-5
1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL 2. AMAZNIA LEGAL 3. OBJETIVOS
DO DESENVOLVIMENTO DO MILNIO (ODM) I. Santos, Daniel II. Verssimo,
Adalberto III. Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amaznia IMAZON. IV.
Ttulo.
CDD: 338.9811
DADOS INTERNACIONAIS PARA CATALOGAO NA PUBLICAO (CIP)
DO DEPARTAMENTO NACIONAL DO LIVRO
Os dados e opinies expressas neste trabalho so de responsabilidade dos autores e no
refetem necessariamente a opinio dos fnanciadores deste estudo.
C392
Lista de Figuras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04
Lista de Tabelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06
Lista de Quadros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06
Lista de Siglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07
Resumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09
Apresentao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
A Amaznia e os Objetivos do Milnio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Objetivo 1. Erradicar a pobreza extrema e a fome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Objetivo 2. Atingir o ensino bsico universal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Objetivo 3. Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres . . . . . . . . . . 32
Objetivo 4. Reduzir mortalidade infantil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Seo Especial. Os povos indgenas e os Objetivos de Desenvolvimento do Milnio . . . . . 42
Objetivo 5. Melhorar a sade materna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Objetivo 6. Combater HIV/Aids, malria e outras doenas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Seo Especial. A Paz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Objetivo 7. Garantir a sustentabilidade ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Objetivo 8. Estabelecer parceria mundial para o desenvolvimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Concluso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Agradecimentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Bibliografa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
SUMRIO
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
4
LISTA DE FIGURAS
Figura 1. A Amaznia brasileira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figura 2. Crescimento demogrfco entre 1991 e 2009 nos Estados da Amaznia (IBGE, 2010a). . . . . 16
Figura 3. Evoluo do PIB entre 1990 e 2007 (defacionado) na Amaznia (Ipea, 2010a). . . . . . . . . . 16
Figura 4. Percentual da populao vivendo em condio de pobreza e pobreza extrema
na Amaznia em 1990, 2002 e 2009 (Ipea, 2010b; IBGE, 2010c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Figura 5. Percentual da populao vivendo em condio de pobreza e pobreza extrema
nos Estados da Amaznia em 2009 (IBGE, 2010c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Figura 6. Percentual da populao vivendo em condio de pobreza extrema nos Estados da
Amaznia em 1990, 2002 e 2009 (Ipea, 2010b; IBGE, 2010c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Figura 7. Evoluo do trabalho infantil (percentual da populao de 10 a 15 anos ocupada) na
Amaznia entre 1992 e 2007 (IBGE via MS 2010a).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Figura 8. Nmero de casos de trabalho em condies anlogas escravido na Amaznia
entre 2003 e 2009 (CPT, 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Figura 9. Percentual da populao economicamente ativa trabalhando no mercado informal
em 1992 e 2009 nos Estados da Amaznia (Ipea, 2010c; IBGE, 2010c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Figura 10. Evoluo da taxa de desemprego na Amaznia entre 2003 e 2008
(Ipea, 2010c; IBGE, 2008b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Figura 11. Evoluo do percentual de crianas desnutridas menores de 2 anos na Amaznia
entre 1999 e 2009 (MS, 2010b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Figura 12. Quantidade de alimento consumido pelas famlias nos Estados da Amaznia no
perodo 2008-2009 (IBGE, 2010d). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Figura 13. IFDM nos municpios da Amaznia em 2006 (Firjan, 2006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Figura 14. Taxa de analfabetismo (% da populao 15 anos) na Amaznia em
1990, 2001 e 2009 (Ipea, 2010d; IBGE, 2010c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Figura 15. Taxa de analfabetismo e analfabetismo funcional (% da populao 15 anos) na
Amaznia em 2009 (IBGE, 2010c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Figura 16. Anos de estudo da populao ( 25 anos) na Amaznia em 1990, 2001 e 2009
(Ipea, 2010d; IBGE, 2010c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Figura 17. ndice Ideb de qualidade da educao para o ensino fundamental na Amaznia
em 2009 (Inep, 2009). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Figura 18. Taxa de analfabetismo da populao feminina (populao >15 anos) nos
Estados da Amaznia (Ipea, 2007d). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Figura 19. Percentual do rendimento mdio das mulheres ( 16 anos) ocupadas em
relao ao dos homens, por grupos de anos de estudo, na Amaznia em 2009 (IBGE, 2010c). . . . . . . 35
Figura 20. Mortalidade infantil at 1 ano de vida na Amaznia entre 1991 e 2009
(Pnud, 2003; MS, 2010c; IBGE, 2010e).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Figura 21. Mortalidade infantil at 1 ano de vida nos Estados da Amaznia em
1991, 2000 e 2000 (Pnud, 2003; IBGE, 2010e). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Figura 22. Mortalidade infantil at 5 anos de vida nos Estados da Amaznia em
1991, 2000 e 2006 (Pnud, 2003 e MS, 2010c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Figura 23. Razo entre bitos informados e estimados de crianas at 1 ano
nos Estados da Amaznia em 2006 (Ripsa, 2006a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
5
Figura 24. Terras Indgenas em 2010 e desmatamento at 2009 na
Amaznia (ISA, 2010; Inpe, 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Figura 25. Evoluo da mortalidade materna na Amaznia entre 1996 e 2008 (MS, 2010c). . . . . . . . 47
Figura 26. Mortalidade materna nos Estados da Amaznia em 1996, 2000 e 2008 (MS, 2010c). . . . . 47
Figura 27. Evoluo da taxa de incidncia de Aids na Amaznia entre 1990 e 2008 (MS, 2010g). . . . 51
Figura 28. Taxa de incidncia de Aids nos Estados da Amaznia em
1990, 2000 e 2008 (MS, 2010g). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Figura 29. Distribuio de casos de Aids nos municpios da Amaznia em 2008 (MS, 2010h). . . . . . 52
Figura 30. Casos de malria na Amaznia entre 1990 e 2009 (MS, 2010i).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Figura 31. Taxa de incidncia de malria nos Estados da Amaznia em
1990, 2000 e 2009 (MS, 2010i). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Figura 32. Distribuio de malria (nmero de casos por 1 mil habitantes)
nos municpios da Amaznia em 2009 (MS, 2010j). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Figura 33. Evoluo da taxa de incidncia de tuberculose, leishmaniose e dengue
na Amaznia entre 1990 e 2007 (MS, 2010g). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Figura 34. Taxa de incidncia de tuberculose nos Estados da Amaznia
em 1990, 2000 e 2007 (MS, 2010g). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Figura 35. Taxa de incidncia de leishmaniose nos Estados da Amaznia
em 1990, 2000 e 2007 (MS, 2010g). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Figura 36. Taxa de incidncia de dengue nos Estados da Amaznia
em 1990, 2000 e 2007 (MS, 2010g). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Figura 37. Violncia no campo na Amaznia entre 2003 e 2009 (CPT, 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Figura 38. Taxa de homicdios municipal na Amaznia em 2008 (MS, 2010m). . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Figura 39. rea desmatada entre 1990 e 2010 e focos de calor entre
1999 e 2010 na Amaznia (Inpe, 2010a; Inpe, 2010b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Figura 40. Cobertura vegetal da Amaznia (Inpe, 2010a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Figura 41. reas Protegidas na Amaznia (Imazon e ISA, no prelo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Figura 42. Criao de reas Protegidas (exceto APAs) na Amaznia entre
1990 e junho de 2010 (adaptado de Imazon e ISA, no prelo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Figura 43. Coleta de esgoto (% da populao) na Amaznia entre 2001 e 2009 (IBGE, 2010g). . . . . . 70
Figura 44. Situao das Metas do Milnio avaliadas nos Estados da Amaznia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
6
LISTA DE TABELAS
Tabela 1. Perfl dos Estados da Amaznia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Tabela 2. Frequncia escolar lquida (%) de crianas (7 e 14 anos) e jovens (15 a 17 anos)
nos Estados da Amaznia (IBGE, 2010c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Tabela 3. Frequncia escolar bruta (%) de crianas (7 e 14 anos) e jovens (15 a 17 anos)
nas zonas urbana e rural nos Estados da Amaznia entre 1990 e 2009 (IBGE, 2010c). . . . . . . . . . . . . 29
Tabela 4. Frequncia escolar bruta (%) de crianas (7 e 14 anos) e de jovens (15 a 17 anos)
por sexo na Amaznia entre 1990 e 2007 (Ipea, 2007d). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Tabela 5. Proporo de mulheres eleitas prefeitas e vereadoras na Amaznia (TSE, 2010). . . . . . . . . . 34
Tabela 6. Proporo de mulheres eleitas deputadas (estaduais e federais) na Amaznia (TSE, 2010). . 34
Tabela 7. Situao das Terras Indgenas na Amaznia Legal em novembro de 2010 (Sisarp, 2010). . . 43
Tabela 8. Proporo de nascidos vivos (%) por nmero de consultas de pr-natal
(MS, 2010d; IBGE, 2010c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Tabela 9. rea desmatada nos Estados da Amaznia em 1990, 2000 e 2010 (Inpe, 2010a). . . . . . . . . 64
Tabela 10. Percentual de reas Protegidas nos Estados da Amaznia at junho de 2010
(Imazon e ISA, no prelo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Tabela 11. Percentual de moradores em domiclios particulares com rede geral de abastecimento
de gua e coleta de esgoto (ligado rede geral e fossa sptica) na Amaznia em
2001 e 2009 (IBGE,2010f; IBGE, 2010g). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
LISTA DE QUADROS
Quadro 1. Objetivos e Metas de Desenvolvimento do Milnio (ONU, 2000). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Quadro 2. Indicadores utilizados para avaliao dos Objetivos do Milnio na Amaznia. . . . . . . . . . 12
Quadro 3. Desigualdade e concentrao de renda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Quadro 4.Outras medidas de pobreza e qualidade de vida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Quadro 5. Qualidade da educao bsica continua baixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Quadro 6. Sub-registro da mortalidade infantil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Quadro 7. Planejamento familiar na Amaznia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Quadro 8. Amaznia lder mundial em hansenase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Quadro 9. Sade pblica na Amaznia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Quadro 10. O fm do desmatamento na Amaznia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Quadro 11. Emisses de CO
2
na Amaznia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Quadro 12. REDD+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Quadro 13. Polticas pblicas e desenvolvimento sustentvel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Quadro 14. O paradoxo do saneamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Quadro 15. Avaliao dos Objetivos e Metas de Desenvolvimento do Milnio . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
7
LISTA DE SIGLAS
Aids Sndrome da Imunodefcincia Adquirida
APA rea de Proteo Ambiental
BID Banco Interamericano de Desenvolvimento
CDB Conveno sobre a Diversidade Biolgica
Cimi Conselho Indigenista Missionrio
CNPI Comisso Nacional de Poltica Indigenista
CPT Comisso Pastoral da Terra
Dfd Departamento para o Desenvolvimento Internacional do Reino Unido
DST Doena Sexualmente Transmissvel
Esec Estao Ecolgica
FAO Organizao das Naes Unidas para Agricultura e Alimentao
Firjan Federao das Indstrias do Estado do Rio de Janeiro
Flona Floresta Nacional
Funai Fundao Nacional do ndio
Funasa Fundao Nacional de Sade
GEE Gases de Efeito Estufa
GTZ Cooperao Tcnica Alem
HIV Vrus da Imunodefcincia Humana
IBGE Instituto Brasileiro de Geografa e Estatstica
Ibama Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
IDH ndice de Desenvolvimento Humano
Imazon Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amaznia
Inep Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Ansio Teixeira
Inpe Instituto de Pesquisas Espaciais
Ipam Instituto de Pesquisa Ambiental da Amaznia
Ipea Instituto de Pesquisas Econmicas Aplicadas
ISA Instituto Socioambiental
IVH ndice de Valores Humanos
MCT Ministrio da Cincia e Tecnologia
MDS Ministrio do Desenvolvimento Social e Combate Fome
MEC Ministrio da Educao
MMA Ministrio do Meio Ambiente
MPEG Museu Paraense Emlio Goeldi
MS Ministrio da Sade
MTE Ministrio do Trabalho e Emprego
Naea Ncleo de Altos Estudos Amaznicos
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
8
ODM Objetivos de Desenvolvimento do Milnio
OIT Organizao Internacional do Trabalho
OMS Organizao Mundial da Sade
ONG Organizao No Governamental
ONU Organizao das Naes Unidas
OTCA Organizao do Tratado de Cooperao Amaznica
Parna Parque Nacional
PEA Populao Economicamente Ativa
PIB Produto Interno Bruto
Pnad Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios
PNGATI Poltica Nacional de Gesto Ambiental em Terras Indgenas
Pnud Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento
POF Pesquisa do Oramento Familiar
RDS Reserva de Desenvolvimento Sustentvel
Rebio Reserva Biolgica
Resex Reserva Extrativista
Ripsa Rede Interagencial de Informao para a Sade
Seab Sistema Nacional de Avaliao da Educao Bsica
Sisarp Sistema de reas Protegidas
Snuc Sistema Nacional de Unidades de Conservao
TI Terra Indgena
TSE Tribunal Superior Eleitoral
UC Unidade de Conservao
Unaids Programa Conjunto das Naes Unidas sobre HIV/Aids
Unesco Organizao das Naes Unidas para a Educao, Cincia e Cultura
Usaid Agncia Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional
WB World Bank
WWF Fundo Mundial para Natureza
WSSCC Water Supply & Sanitation Collaborative Council
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
9
RESUMO
O
s Objetivos de Desenvolvimen-
to do Milnio estabelecidos
pela ONU no ano 2000 pro-
pem metas e indicadores para medir e orien-
tar melhorias nas condies socioeconmicas
(pobreza, educao, sade, desigualdade entre
os gneros, mortalidade infantil e materna) e
ambientais em regies pobres e em desenvol-
vimento do mundo. Neste O Estado da Ama-
znia, analisamos a evoluo desses objetivos
no contexto da Amaznia Legal at 2009. em
relao s metas propostas para 2015 atravs
de 25 indicadores.
Na Amaznia houve progressos no que
se refere maioria dos indicadores analisados
se compararmos a situao em 2009 de 1990.
Entretanto, em geral, essa melhoria ainda in-
satisfatria, e a regio est abaixo da mdia na-
cional. A situao da regio crtica no caso da
pobreza, da incidncia de malria, Aids, mor-
talidade materna e do saneamento bsico. Os
avanos foram tmidos na busca da igualdade
entre os gneros. As mulheres tm pouca par-
ticipao na poltica e so desfavorecidas no
mercado de trabalho. Alm disso, a regio tem
altos ndices de violncia. H disparidade dos
indicadores entre as zonas urbanas e rurais, e
os povos indgenas e demais populaes tradi-
cionais enfrentam grandes desafos para asse-
gurarem seu bem-estar.
Por outro lado, o acesso educao au-
mentou (contudo, melhorar a qualidade ainda
um desafo), no houve desigualdade entre
os sexos no acesso escola e houve queda na
mortalidade infantil (embora h fortes indcios
de sub-registros nas estatsticas ofciais). A re-
gio avanou consideravelmente na criao de
reas Protegidas (Terras Indgenas e Unidades
de Conservao), que passou de pouco mais
de 8% em 1990, para cerca de 44% em 2010.
Alm disso, o desmatamento caiu expressiva-
mente nos ltimos anos registrando em 2010 a
menor taxa da histria.
Entre as 15 metas avaliadas neste estudo,
apenas uma foi atingida na regio (eliminar de-
sigualdade entre os sexos na educao infantil).
Se esse ritmo lento de melhoria for mantido,
apenas outras duas metas podero ser alcan-
adas at 2015: garantir o acesso educao
fundamental e inverter a perda de recursos am-
bientais (medido pela reduo do desmatamen-
to e aumento das reas Protegidas).
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
10
APRESENTAO
P
ara medir e orientar melhorias no
quadro global de degradao am-
biental e problemas socioecon-
micos como pobreza, fome e doenas, a ONU
estabeleceu em 2000 os Objetivos de Desen-
volvimento do Milnio (ODM). A Declarao
do Milnio um compromisso assinado por
191 pases incluindo o Brasil. Trata-se de oito
objetivos com metas especfcas a serem alcan-
adas at 2015 (Quadro 1). Embora existam
relatrios ofciais avaliando os ODM no Brasil
(Ipea, 2005; Brasil, 2010a), nenhum trata espe-
cifcamente de regies do Brasil, como caso
da Amaznia.
A Amaznia uma regio estratgica para
o Brasil e para o mundo. Ela abriga a maior fo-
resta tropical e biodiversidade do planeta, pro-
v servios ecossistmicos vitais ao bem-estar
da humanidade e resguarda uma das maiores
diversidades tnicas e culturais do mundo. Ao
mesmo tempo, a Amaznia muito importante
para as perspectivas de desenvolvimento eco-
nmico do pas pelo seu papel no suprimento
de energia hidreltrica, minrios, agropecuria
e produtos forestais. Na Amaznia, as metas e
os indicadores usados para medir os Objetivos
do Milnio representam uma abordagem ino-
vadora para avaliar o desenvolvimento e orien-
tar aes para melhorar as condies sociais,
econmicas e ambientais.
Em 2007, o Imazon publicou o estudo
A Amaznia e os Objetivos do Milnio, no
qual analisou o avano dos ODM na regio
entre 1990 e 2005 (Celentano e Verssimo,
2007a). Em geral, os resultados mostraram que
os avanos foram insatisfatrios e que a regio
amaznica estava abaixo da mdia nacional
para a maioria dos indicadores avaliados. Em
2010, faltando apenas cinco anos para o pra-
zo de cumprimento dos Objetivos do Milnio,
a ONU convocou uma conveno de cpula
com os lderes mundiais para revisar a situao
global, identifcar os desafos e as oportunida-
des e promover estratgias de ao mais con-
cretas. Nesse mesmo ano, no Brasil foram elei-
tos novos governantes para os prximos quatro
anos. Este um momento crucial para voltar o
debate sobre os ODM na Amaznia e inserir o
tema na agenda poltica da regio.
Neste O Estado da Amaznia, apresenta-
mos a atualizao do estudo sobre os Objetivos
do Milnio na Amaznia Legal
1
. Para isso, ana-
lisamos 25 indicadores (Quadro 2). Em geral,
a avaliao refere-se ao perodo entre 1990 e
2009. Os indicadores avaliados so aqueles
propostos pela ONU disponveis para a Ama-
znia e outros complementares relevantes para
a realidade regional
2
. Adicionalmente, inclu-
mos duas sees especiais: uma sobre os povos
indgenas e a outra sobre a paz. Os indicadores
foram comparados entre os Estados da Amaz-
nia e com o Brasil.
3
Ao fnal de cada seo h
uma avaliao da situao atual da regio em
relao s metas propostas pela ONU.
4
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
11
Quadro 1. Objetivos e Metas de Desenvolvimento do Milnio (ONU, 2000).
Objetivo 1: Erradicar a pobreza extrema e a fome
Meta 1: Reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a proporo da populao em extrema pobreza.
Meta 2: Garantir emprego pleno e produtivo e boas condies de trabalho para todos, inclusive
mulheres e jovens.
Meta 3: Reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a proporo da populao que sofre fome.
Objetivo 2: Atingir o ensino bsico universal
Meta 4: Garantir, at 2015, que todas as crianas de todos os pases, de ambos os sexos, terminem um
ciclo completo de estudo.
Objetivo 3: Promover a igualdade entre os gneros e a autonomia das mulheres
Meta 5: Eliminar as disparidades entre os sexos no ensino fundamental e mdio, se possvel at 2005, e
em todos os nveis de ensino, o mais tardar at 2015.
Objetivo 4: Reduzir a mortalidade infantil
Meta 6: Reduzir em dois teros, entre 1990 e 2015, a mortalidade de crianas at 5 anos.
Objetivo 5: Melhorar a sade materna
Meta 7: Reduzir em 75%, entre 1990 e 2015, a taxa de mortalidade materna.
Meta 8: Garantir acesso universal sade reprodutiva.
Objetivo 6: Combater Aids, malria e outras doenas
Meta 9: At 2015, ter detido e comeado a reduzir a propagao do HIV/Aids.
Meta 10: Garantir, at 2010, acesso universal ao tratamento para HIV/Aids para todos que necessitem.
Meta 11: At 2015, ter detido e comeado a reduzir a incidncia da malria e de outras doenas graves.
Objetivo 7: Garantir a sustentabilidade ambiental
Meta 12: Incorporar os princpios de desenvolvimento sustentvel nas polticas pblicas e programas
nacionais e inverter a perda de recursos ambientais.
Meta 13: Reduzir a perda de biodiversidade alcanando, at 2010, uma reduo signifcativa nas taxas
de perda.
Meta 14: Reduzir metade, at 2015, a proporo da populao sem acesso permanente gua potvel
e ao saneamento bsico.
Meta 15: At 2020, ter alcanado melhoria signifcativa na vida de pelo menos 100 milhes de
habitantes de submoradias.
Objetivo 8: Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento
Meta 16: Atender s necessidades especiais dos pases menos desenvolvidos, sem acesso ao mar e dos
pequenos Estados insulares em desenvolvimento.
Meta 17: Avanar no desenvolvimento de um sistema comercial e fnanceiro aberto, baseado em regras,
previsvel e no discriminatrio.
Meta 18: Tratar globalmente o problema da dvida dos pases em desenvolvimento.
Meta 19: Proporcionar o acesso a medicamentos essenciais, a preos acessveis
Meta 20: Dar acesso aos benefcios das novas tecnologias, tais como tecnologias da informao e das
comunicaes.
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
12
Quadro 2. Indicadores utilizados para avaliao dos Objetivos do Milnio na Amaznia.
Objetivo 1:
Erradicar a pobreza
extrema e a fome
1. Extrema pobreza (populao com renda domiciliar per capita mensal inferior a 25% do
salrio mnimo) e pobreza (renda entre 25% e 50% do salrio mnimo). Fonte: Ipea e IBGE.
5
2. Trabalho Infantil. Percentual da populao de 15 anos ou menos de idade que se encontra
trabalhando ou procurando trabalho na semana de referncia. Fonte: IBGE e MS.
3. Trabalho em condio anloga a de escravo. Trabalho degradante com privao de
liberdade, seja por meio da servido por dvida, reteno de documentos, isolamento
geogrfco ou uso de guardas armados (OIT, 2005). Fonte: CPT.
4. Informalidade. Porcentagem de pessoas em trabalhos informais em relao ao total de
pessoas ocupadas. Fonte: Ipea e IBGE.
5. Insufcincia alimentar. Percepo sobre a quantidade de alimento consumida. Fonte: IBGE.
6. Desnutrio infantil. Percentual de crianas com at 2 anos desnutridas. Fonte: MS.
Objetivo 2:
Atingir o ensino
bsico universal
7. Analfabetismo (populao com mais de 15 anos incapaz de ler ou escrever um bilhete
simples) e Analfabetismo Funcional (porcentagem de pessoas que tem menos de 3 anos
de estudo; geralmente sabem ler e escrever algo simples, mas tem habilidades limitadas e
difculdade de compreenso). Fonte: Ipea e IBGE.
8. Nmero mdio de anos de estudo para populao com 25 anos ou mais. Fonte: IBGE.
9. Frequncia escolar lquida. Proporo de pessoas de uma determinada faixa etria
que frequenta a escola na srie adequada, conforme a adequao srie-idade do sistema
educacional brasileiro, em relao ao total de pessoas da mesma faixa etria. Fonte: IBGE.
10. Frequncia escolar bruta. Proporo de pessoas de uma determinada faixa etria que
frequenta escola em relao ao total de pessoas da mesma faixa etria. Fonte: IBGE.
Objetivo 3:
Promover a
igualdade entre
os gneros e a
autonomia das
mulheres
11. Educao feminina. Frequncia escolar (%), proporo da populao feminina (> 15
anos) analfabeta e nmero de anos de estudo. Fonte: IBGE.
12. Mulheres na poltica. Proporo de mulheres exercendo cargos de representao poltica
no executivo e legislativo. Fonte: TSE.
13. Rendimento. Percentual do rendimento mdio das mulheres ( 16 anos) ocupadas em
relao aos homens, por grupos de anos de estudo. Fonte: IBGE.
Objetivo 4:
Reduzir a
mortalidade
infantil
14. Mortalidade at 1 ano de idade por 1.000 nascidos vivos. Fontes: Pnud, MS e IBGE.
15. Mortalidade at 5 anos de idade por 1.000 nascidos vivos. Fonte: Pnud e MS.
Objetivo 5:
Melhorar a sade
materna
16. bito materno por 100.000 crianas nascidas. bito durante a gestao ou at 42 dias
aps seu trmino, independente da durao ou da localizao da gravidez, devido a qualquer
causa relacionada com ou agravada pela gravidez ou por medidas em relao a ela (OMS
1997). Fonte: MS.
17. Cobertura de Consultas Pr-Natal. Distribuio percentual de mulheres com flhos
nascidos vivos segundo o nmero de consultas de pr-natal. Fonte: MS.
Objetivo 6:
Combater doenas
como Aids e
malria
18. HIV/Aids. Taxa de incidncia de Aids por 100 mil habitantes. Fonte: MS.
19. Malria. Taxa de incidncia de malria por 100 mil habitantes. Fonte: MS.
20.Tuberculose. Taxa de incidncia de tuberculose por 100 mil habitantes. Fonte: MS.
21. Leishmaniose. Taxa de incidncia de leishmaniose por 100 mil habitantes. Fonte: MS.
22. Dengue. Taxa de incidncia de dengue para cada 100 mil habitantes. Fonte: MS.
Objetivo 7:
Garantir a
sustentabilidade
ambiental
23. Desmatamento. rea anual de desforestamento. Fonte: Inpe.
24. reas Protegidas. Porcentagem de reas Protegidas por Terras Indgenas e Unidades de
Conservao. Fontes: Imazon e ISA.
25. Saneamento bsico: gua, Esgoto e Lixo. Populao (%) vivendo em domiclios ligados
rede geral de gua e com instalaes adequadas de esgoto (ligado rede geral ou fossa
sptica) e coleta de lixo. Fonte: IBGE.
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
13
NOTAS DE PRECAUO
Adotamos uma escala ampla de anlise
considerando a Amaznia Legal como um todo
e desdobrando as anlises apenas na esfera dos
Estados e em alguns casos tambm para os mu-
nicpios. Entretanto, reconhecemos que uma
anlise mais acurada exigiria tratar a regio na
escala das sub-regies e dos municpios para to-
dos os indicadores. Isso revelaria um mapa mais
acurado das desigualdades dentro dos prprios
Estados e das sub-regies. Contudo, h uma se-
vera limitao na frequncia de levantamento e
atualizao de dados municipais na Amaznia.
O Estado de Mato Grosso est integral-
mente inserido no conceito de Amaznia Legal
adotado em nossa anlise, mesmo que meta-
de do seu territrio apresente caractersticas
ambientais e socioeconmicas mais similares
aos Estados da regio Centro-Oeste. O mesmo
ocorre com o Estado do Tocantins cuja vegeta-
o de cerrado distinta dos outros Estados da
Amaznia. De fato, a vegetao de cerrado tem
infuncia na dinmica de ocupao e de de-
senvolvimento desses Estados e os distingue do
restante da Amaznia forestal. Portanto, uma
anlise que considera apenas o domnio do
bioma Amaznia, excluindo a parte do Mato
Grosso ocupada pela vegetao de cerrado e a
maior parte do Tocantins, poderia revelar uma
situao diferente. Porm, h limitao para
essa abordagem, pois os limites do bioma no
coincidem com os limites da diviso poltica
dos Estados e os dados municipais so desatua-
lizados para a maioria dos indicadores. Embora
o Maranho no esteja integralmente inserido
na Amaznia Legal, as anlises estaduais consi-
deram o Estado como um todo pela impossibi-
lidade de desagregar.
Finalmente, cabe registrar que as estatsti-
cas na regio apresentam problemas histricos
devido difculdade de acesso e de coleta de
dados. Dessa forma, para alguns indicadores,
possvel haver discrepncias entre os anos
devido a mudanas no esforo de coleta, por
exemplo, na taxa de incidncia de Aids. Outro
problema a mudana no mtodo de clculo
de alguns indicadores na fonte primria, como
no caso dos indicadores de pobreza, insegu-
rana alimentar e saneamento. Nesses casos,
aconselhamos a leitura das notas explanatrias
com maiores detalhes. No foi objetivo de nos-
so estudo a anlise de causas e a elaborao de
recomendaes especfcas.
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
14
A AMAZNIA E OS OBJETIVOS DO MILNIO
A
Amaznia Legal compreende os
Estados da regio Norte (Acre,
Amazonas, Amap, Par, Ron-
dnia, Roraima e Tocantins), Mato Grosso,
parte do Maranho e uma pequena poro de
Gois (Figura 1). A Amaznia Legal (referida
no restante do texto apenas como Amaznia)
ocupa 59% do territrio brasileiro e abriga 24
milhes de habitante, ou seja, 12% da popu-
lao nacional (Tabela 1). Vivem na Amaz-
nia cerca de 170 povos indgenas totalizando
uma populao aproximada de 250.000 pes-
soas. Embora a densidade demogrfca na re-
gio (4,7 habitantes por quilmetro quadrado)
seja quase cinco vezes inferior mdia nacio-
nal (22,5), o crescimento da populao entre
1991 e 2010 foi expressivo (40%) sendo supe-
rior mdia brasileira para o mesmo perodo
que foi de 30% (Figura 2). A migrao tem um
papel importante no aumento da populao
na regio. Em 2008, 22% da populao resi-
dente era migrante de outras regies do pas.
A grande maioria (80%) da populao amaz-
nica reside nas cidades
6
.
Figura 1. A Amaznia brasileira.
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
15
Tabela 1. Perfl dos Estados da Amaznia.
Estado Sigla
rea
(milhares de
km
2
)
1
Nmero de
Municpios
2
Populao
em 2010
3
(milhares)
Urbanizao
em 2009
4
(%)
Densidade
Demogrfca
(hab/km
2
)
Acre AC 152,6 22 707 79 4,6
Amazonas AM 1.570,7 62 3.351 83 2,2
Amap AP 142,8 16 649 98 4,5
Maranho
5
MA 249,6 181 5.355 70 18,7
Mato Grosso MT 903,4 141 2.955 82 3,4
Par PA 1.247,7 143 7.444 75 6,0
Rondnia RO 237,6 52 1.537 73 6,4
Roraima RR 224,3 15 425 85 1,9
Tocantins TO 277,6 139 1.374 74 4,7
Amaznia Legal 5.006,3 771 23.797 80 4,7
Brasil 8.514,9 5.592 190.733 84 22,5
1
Fonte: IBGE (2002);
2
Fonte: IBGE (2008a);
3
Fonte: IBGE (2010a);
4
Fonte: IBGE (2009a);
5
Inclui apenas os municpios situados na Amaznia Legal.
A Amaznia respondia por 8% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2008
(246 bilhes de reais, IBGE 2010b)
7
. Entre os
Estados, o Par tem 24% do PIB da regio, se-
guido pelo Mato Grosso com 22%, Amazonas
com 19% e Maranho com 16%. Entre 2000 e
2007, o PIB (defacionado) na Amaznia cres-
ceu 62% contra um aumento de 38% no PIB
do Brasil como um todo (Figura 3). Em 2007,
o setor de servios foi o que mais contribuiu
para o PIB amaznico, com 60% de participa-
o, enquanto a indstria e agropecuria con-
triburam respectivamente com 25% e 15%. O
PIB per capita mdio da Amaznia (11,2 mil
reais) era 30% inferior mdia brasileira em
2008. Maranho com 6,1 mil reais e Par com
7,9 mil reais apresentaram os menores PIB per
capita da regio, enquanto Mato Grosso (17,9
mil reais) apresentou um valor acima da mdia
nacional (15,9 milreais).
8
Embora o PIB seja considerado o princi-
pal indicador para avaliar o crescimento eco-
nmico do pas, ele no refete a qualidade de
vida das populaes e a desigualdade social.
Alm disso, o PIB no computa a perda da
riqueza ou ativo natural do pas. Afnal, um
pas pode cortar suas forestas e poluir seus
rios e ter isso refetido como aumento no PIB
sem registrar a correspondente declinao
dos ativos (riqueza). Vrios pases que apre-
sentam crescimento econmico (lquido), na
realidade experimentam a diminuio da ri-
queza quando se computa a degradao dos
recursos naturais (MEA, 2005). Infelizmen-
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
16
te, as contas nacionais no Brasil ainda no
consideram o esgotamento ou degradao
desses recursos. Por isso, para embasar uma
discusso mais ampla sobre desenvolvimento
econmico e socioambiental, analisamos os
Objetivos do Milnio. Esta anlise abarca in-
dicadores sociais que refetem a qualidade de
vida das populaes e indicadores ambien-
tais que refetem a situao dos ecossistemas
e seus recursos naturais. Os Objetivos do Mi-
lnio tem o mrito de estabelecer as bases
para uma discusso mais ampla sobre os be-
nefcios esperados de um desenvolvimento
sustentvel para a Amaznia.
Figura 3. Evoluo do PIB entre 1990 e 2007 (defacionado) na Amaznia (Ipea, 2010a).
Figura 2. Crescimento demogrfco entre 1991 e 2010 nos Estados da Amaznia (IBGE, 2010a).
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
O
B
J
E
T
I
V
O
17
1
Para a Declarao dos Direitos Humanos
toda pessoa tem direito a um padro de vida
capaz de assegurar a si e a sua famlia sade
e bem-estar. Inclusive alimentao, vesturio,
habitao, cuidados mdicos e os servios so-
ciais indispensveis.... Embora a pobreza seja
um conceito amplo que deve ser analisado de
forma multidimensional, na prtica, em muitos
pases, a pobreza determinada pela renda
mnima necessria para cobrir os custos das
necessidades bsicas, especialmente alimenta-
o. Estima-se que quase 1 bilho de pessoas
vivam atualmente em condies de pobreza
extrema e fome no mundo (ONU, 2010a). Isso
representa uma reduo de 50% desde 1990.
No Brasil, a pobreza extrema caiu nos ltimos
anos. Segundo o governo federal, a populao
vivendo abaixo da linha de pobreza interna-
cional (1 dlar/dia) caiu de 25% da populao,
em 1990, para 5% em 2008 (Brasil, 2010a)
9
.
Entretanto, os indicadores nacionais encobrem
as desigualdades entre regies e entre grupos
da sociedade (ver Quadro 3: Desigualdade e
concentrao de renda).
Na Amaznia, o conceito de pobreza
deve ser compreendido de diferentes formas
objetivo 1.
Erradicar a pobreza extrema e a fome
para poder refetir a sua imensa diversidade
cultural. Para cerca de 20% da populao das
reas rurais, entre elas, as populaes tradicio-
nais e indgenas, que obtm sua subsistncia
da foresta e dos rios por meio do extrativismo
(frutos, pesca ou caa), os fatores culturais, ge-
ogrfcos e ambientais so determinantes na
avaliao da pobreza e do bem-estar. Afnal, o
bem-estar dessas populaes depende no ape-
nas da renda, mas tambm da abundncia e do
acesso aos recursos naturais e de sua capaci-
dade e condies para manej-los (Ver seo
especial sobre povos indgenas). No entanto,
80% da populao na regio urbana e depen-
de de emprego e renda para seu bem-estar.
Por isso, para avaliar o ODM 1 utiliza-
mos os seguintes indicadores: (i) percentual da
populao vivendo em condio de pobreza e
de pobreza extrema; (ii) condies de emprego
(persistncia do trabalho em condies anlo-
gas escravido, trabalho infantil e informalida-
de); e (iii) sufcincia alimentar nos domiclios.
Uma avaliao mais ampla da pobreza exigiria
abarcar indicadores que ainda no esto dispo-
nveis para a regio (ver Quadro 4: Outras me-
didas de pobreza e qualidade de vida).
POBREZA PERSISTE NA AMAZNIA
A pobreza ainda afeta 42% da populao
amaznica. Mais de 10 milhes de pessoas vi-
viam com menos de meio salrio mnimo por
ms em 2009.
10
A mdia brasileira era de 29%
da populao abaixo da linha de pobreza para
o mesmo ano. A populao vivendo em con-
dies de pobreza teve uma modesta reduo
nos ltimos anos na Amaznia (Figura 4). Em
2009, 17% da populao da regio vivia com
renda inferior a um quarto do salrio mnimo
(pobreza extrema) e 25% possua renda entre
um quarto e meio salrio mnimo (pobreza).
Entre os Estados (Figura 5), o Maranho apre-
sentava a populao mais pobre da regio, com
53% da populao abaixo da linha de pobreza,
enquanto o Mato Grosso apresentava o melhor
resultado, com 24% da populao abaixo da
linha de pobreza.
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
18
O
B
J
E
T
I
V
O
1
A primeira meta do ODM 1 prev redu-
zir pela metade, entre 1990 e 2015, a propor-
o da populao vivendo em condio de
pobreza extrema.
11
Entre 1990 e 2009 (Figura
6), a pobreza extrema (populao com renda
inferior a um quarto do salrio mnimo) dimi-
nuiu de 23% para 17% na Amaznia, mas ain-
da falta reduzir 7 pontos percentuais para atin-
gir a meta brasileira para 2015 (10%). Entre
os Estados, a pobreza extrema aumentou no
Amazonas e no Amap, manteve-se em Ron-
dnia e diminuiu nos demais. Nesse perodo,
a pobreza extrema no Brasil foi reduzida de
20% para 11%.
12
Entre as polticas pblicas governamen-
tais para o combate da pobreza e erradicao
da fome no Brasil est o Programa Bolsa Fa-
mlia (criado pela Lei n
o
10.836 de 2004), que
permite transferncia direta de renda. Segundo
o MDS (2010), em dezembro de 2008, 1,9 mi-
lho de famlias da Amaznia foram benefcia-
das pelo Programa Bolsa Famlia com 181 mi-
lhes de reais. Isso representou 18% de todos
os benefciados do Brasil.
Figura 4. Percentual da populao vivendo em condio de pobreza e pobreza extrema na Amaznia em
1990, 2002 e 2009 (Ipea, 2010b; IBGE, 2010c).
Figura 5. Percentual da populao vivendo em condio de pobreza e pobreza extrema nos Estados da
Amaznia em 2009 (IBGE, 2010c).
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
O
B
J
E
T
I
V
O
19
1
Figura 6. Percentual da populao vivendo em condio de pobreza extrema nos Estados da Amaznia
em 1990, 2002 e 2009 (Ipea, 2010b; IBGE, 2010c).
M CONDIO DE TRABALHO PERSISTE
A meta 2 prev garantir emprego pleno
e produtivo e boas condies de trabalho para
todos, inclusive mulheres e jovens. Infelizmen-
te, na Amaznia, ainda persistem problemas
srios como o trabalho infantil e o trabalho em
condio anloga de escravido. Alm disso,
a informalidade manteve-se alta nos ltimos
anos.
Embora a taxa de trabalho infantil tenha
diminudo nos ltimos anos (Figura 7), ainda
h 14% das crianas entre 10 e 15 anos tra-
balhando na regio, ou seja, cerca de 510 mil
crianas. Maranho e Acre possuem a maior
taxa de trabalho infantil entre os Estados da re-
gio, respectivamente 22% e 20%; enquanto o
Amap apresenta a taxa mais baixa (7%).
Figura 7. Evoluo do trabalho infantil (percentual da populao de 10 a 15 anos ocupada) na Amaznia
entre 1992 e 2007 (IBGE via MS 2010a). Dados de 1994 e 2000 indisponveis.
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
20
O
B
J
E
T
I
V
O
1
Entre 2003 e 2009, foram registrados
1.422 casos de trabalho em condies anlo-
gas de escravido na Amaznia (Figura 8).
Isso representa 80% de todos os casos regis-
trados no Brasil. Durante esses anos, mais de
15 mil pessoas foram libertadas da condio
de trabalho forado na regio. Somente em
2009 foram registrados 140 casos de traba-
lho escravo na Amaznia: 60% deles no Par,
21% no Maranho e 16% no Mato Grosso.
Embora o nmero de casos tenha diminudo
nos ltimos anos, a persistncia dessa prti-
Figura 8. Nmero de casos de trabalho em condies anlogas escravido na Amaznia entre 2003 e
2009 (CPT, 2010).
ca ilegal que infringe os direitos humanos
ainda elevada (Ver maiores detalhes na seo
especial A paz).
13
Segundo a ONU (2010b), os trabalha-
dores escravos no Brasil so no geral homens
analfabetos entre 25 e 40 anos de idade, pro-
venientes principalmente do Maranho, Piau
e Tocantins. A maioria desses homens trabalha
em fazendas de pecuria (38%), agricultura
(25%) e na prtica de desmatamento e extrao
de madeira (14%). Alm desses, 3% atuam na
produo de carvo (ONU, 2010b).
Alm dos problemas crnicos de traba-
lho infantil e trabalho forado, mais da metade
da populao amaznica economicamente ati-
va trabalha no mercado informal sem os bene-
fcios sociais garantidos (Figura 9). Entre 1992 e
2009, o grau de informalidade manteve-se em
60% na Amaznia. A populao trabalhando
na informalidade na regio era maior que a
mdia brasileira (49%). Maranho, Par e To-
cantins apresentavam o maior grau de informa-
lidade; respectivamente, 73%, 69% e 67% da
populao economicamente ativa trabalhava
no mercado informal. Em 2008, 8% da popu-
lao amaznica economicamente ativa estava
desempregada. Na ltima dcada, a taxa de de-
semprego manteve-se praticamente estvel na
Amaznia e com futuao parecida mdia
nacional (Figura 10).
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
O
B
J
E
T
I
V
O
21
1
Figura 9. Percentual da populao economicamente ativa trabalhando no mercado informal em 1992 e
2009 nos Estados da Amaznia (Ipea, 2010c; IBGE, 2010c).
Figura 10. Evoluo da taxa de desemprego na Amaznia entre 1992 e 2008 (Ipea, 2010c; IBGE, 2008b).
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
22
O
B
J
E
T
I
V
O
1
Figura 11. Evoluo do percentual de crianas desnutridas menores de 2 anos na Amaznia entre 1999 e
2009 (MS, 2010b).
Os dados mais recentes sobre a alimen-
tao do brasileiro so da Pesquisa de Ora-
mentos Familiares (POF/IBGE). Nessa pesquisa,
a percepo sobre a quantidade de alimento
consumida indicada a partir de trs grada-
es: (1) normalmente no sufciente; (2) s
vezes no sufciente; e (3) sempre sufciente.
Na Amaznia, apenas 53% das famlias dispu-
nham de uma alimentao sempre sufciente
em 2009 (Figura 12) e 11% declararam ter falta
de alimento constante. No Brasil, os resultados
mdios so melhores: 65% da populao com
alimentao sempre sufciente. Menos da me-
tade das famlias de Roraima, Par, Amazonas,
Tocantins e Maranho declararam ter uma ali-
mentao sempre sufciente.
Em 2004, outra pesquisa do IBGE mos-
trou que em 35% dos domiclios amaznicos
registrava-se insegurana alimentar mdia ou
grave. Infelizmente, os dados de 2004 e 2009
no so comparveis pela incompatibilidade
nos mtodos.
DESNUTRIO INFANTIL DIMINUI DRASTICAMENTE,
MAS INSUFICINCIA ALIMENTAR PERSISTE
A meta 3 do ODM 1 prev reduzir pela
metade, entre 1990 e 2015, a proporo da po-
pulao que sofre fome. A boa notcia que
o percentual de crianas desnutridas na Ama-
znia caiu consideravelmente nos ltimos 10
anos, passando de 11%, em 1999, para apenas
2% em 2009 (Figura 11). Em 2009, os piores
resultados ocorreram no Maranho e no Acre,
onde, respectivamente, 3,8% e 3,3% das crian-
as com menos de 2 anos estavam desnutridas.
Para esse indicador, no h disparidade entre a
Amaznia e a mdia brasileira.
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
O
B
J
E
T
I
V
O
23
1
Figura 12. Quantidade de alimento consumido pelas famlias nos Estados da Amaznia no
perodo 2008-2009 (IBGE, 2010d).
Quadro 3. Desigualdade e concentrao de renda
Os indicadores de pobreza melhoraram no pas. No entanto, o Brasil ainda apresenta
muita desigualdade social. De fato, o Brasil est entre os dez pases com maior desigualda-
de de renda do mundo. O ndice de Gini, usado mundialmente para medir desigualdade,
foi 0,53
14
em 2009 no Brasil e tambm na regio amaznica (Ipea, 2010b). A desigualdade
manteve-se estvel na regio desde 1990. O Acre apresentou a maior desigualdade da regio
(ndice de Gini = 0,61) e a segunda maior do Brasil, atrs apenas do Distrito Federal.
Outra maneira de visualizar o problema de desigualdade na regio comparar a par-
ticipao na renda domiciliar total do 1% mais rico da populao (241 mil pessoas) com a
participao dos 50% mais pobres (12,3 milhes de pessoas). Em 2009, a frao 1% mais rica
da populao detinha 11,3% da renda domiciliar total da regio (Ipea, 2010b), enquanto a fa-
tia dos 50% mais pobres era um pouco maior (16,4%). Em 1990, a desigualdade medida pela
participao dos mais ricos e mais pobres na renda domiciliar era similar a 2009: a frao 1%
mais rica da populao detinha 10,7% da renda domiciliar total da regio, enquanto a fatia
dos 50% mais pobres detinha um pouco mais (15,1%).
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
24
O
B
J
E
T
I
V
O
1
Quadro 4. Outras medidas de pobreza e qualidade de vida
A qualidade de vida deve ser avaliada de forma multidimensional e no somente por
indicadores econmicos. Por isso, diversos ndices foram criados nas ltimas dcadas. O mais
conhecido o ndice de Desenvolvimento Humano (IDH), criado em 1990 e utilizado pela
ONU desde ento. um ndice que utiliza indicadores de educao, sade e renda. Ele varia
de 0 (pior) a 1 (melhor). Embora seja o mais utilizado mundialmente, possui periodicidade
limitada no Brasil para os Estados e municpios. Os ltimos dados do IDH para Amaznia
so de 2000, quando a regio apresentava um IDH de 0,705 (Celentano e Verssimo 2007b).
Naquele ano, o IDH do Brasil foi de 0,766 e o pas ocupava o 74 lugar no ranking mundial
(Pnud, 2003). Em 2010, o Brasil ocupou a 73 lugar.
Em 2006, foi criado o ndice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) no Brasil.
O IFDM semelhante ao IDH, mas utiliza um nmero maior de indicadores (3 de emprego
e renda, 3 de sade e 6 de educao)
15
e apresenta dados municipais mais recentes (Firjan,
2008). O IFDM mdio para a Amaznia em 2006 foi 0,613, enquanto a mdia brasileira era
0,670 (Firjan, 2006). Maranho (0,572) e Par (0,589) apresentaram os piores resultados, en-
quanto Mato Grosso (0,655) foi o melhor. Entre os municpios, 45% deles apresentaram IFDM
menor que 0,5 (Figura 13).
Figura 13. IFDM nos municpios da Amaznia em 2006 (Firjan, 2006).
Recentemente, o Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) criou o n-
dice de Valores Humanos (IVH). Provvel substituto do IDH, o IVH incorpora aspectos mais qua-
litativos do desenvolvimento, os quais refetem as expectativas, sonhos e ambies da populao
por meio de questionrios (Pnud, 2010). Resultados preliminares para o Brasil indicam que o pas
tem um IVH de 0,59, enquanto a regio Norte tem o pior IVH (0,50) do pas (Pnud, 2010).
16
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
O
B
J
E
T
I
V
O
25
1
OBJETIVO 1 - ERRADICAR A POBREZA E A FOME
Meta 1: Reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a proporo da populao pobre.
Meta Brasil para 2015: 10% da populao vivendo em condio de pobreza extrema
(um quarto do salrio mnimo).
Amaznia em 2009: 17% da populao em condio de pobreza extrema.
Avaliao: Mantida a atual taxa de reduo, essa meta ser atingida somente em 2030.
O Mato Grosso j atingiu a meta. Maranho o Estado mais distante dessa meta.
Meta 2: Garantir emprego pleno e produtivo e boas condies de trabalho pata todos.
Avaliao: Embora metas quantitativas no sejam especifcadas pela ONU, enquanto
persistirem na Amaznia trabalho infantil e trabalho em condies anlogas da escra-
vido, essa meta no poder ser atingida. Alm disso, a maioria dos trabalhadores da
regio atua no mercado informal sem ter assegurados os direitos sociais previstos em
lei.
?
Meta 3: Reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a proporo da populao que sofre
fome.
Avaliao: Meta no avaliada por incomparabilidade de dados entre os diferentes anos.
Dados sobre a segurana alimentar e estado nutricional no Brasil esto disponveis em
diferentes mtricas para a Amaznia. Em 2009, apenas 53% da populao amaznica
declarou ter alimentao sempre sufciente em suas mesas. A boa notcia que a desnu-
trio infantil caiu drasticamente na regio atingindo apenas 2% das crianas.
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
26
O
B
J
E
T
I
V
O
2
A educao o principal catalisador para
o desenvolvimento humano e para a construo
de uma sociedade mais justa (Unesco, 2010).
A educao fundamental um direito huma-
no bsico indispensvel para gozar dos demais
direitos e de benefcios sociais, econmicos,
polticos e culturais. Nenhum pas alcanou
desenvolvimento humano e econmico sem in-
vestimentos em educao. No mundo, o aces-
so educao est condicionado renda e s
condies de acesso s escolas. As crianas do
meio rural possuem metade do acesso escola
que as crianas do meio urbano. Entre o quin-
to mais pobre da populao mundial, 40% das
crianas esto fora da escola (ONU, 2010a).
objetivo 2.
Atingir o ensino bsico universal
No Brasil, o acesso da populao
educao (medido pela frequncia) aumen-
tou muito. Atualmente, os principais desafios
nacionais so assegurar que todos os jovens
brasileiros concluam o ensino fundamental
(Brasil, 2010) e melhorar a qualidade do
ensino (Ver Quadro 5 sobre a qualidade da
educao bsica). Para isso, fundamental
investir na formao e atualizao dos pro-
fessores, assim como em boas condies de
trabalho. Para medir o avano do ODM 2
na Amaznia avaliamos: (i) taxa de analfa-
betismo e analfabetismo funcional; (ii) anos
de estudo; e (iii) taxa de frequncia escolar
lquida e bruta.
ANALFABETISMO CAI, MAS ANALFABETISMO
FUNCIONAL PERMANECE ELEVADO
A populao com mais 15 anos de ida-
de analfabeta diminuiu de 20%, em 1990,
para 11% em 2009 na Amaznia (Figura 14).
No Brasil, a queda foi similar nesse perodo,
atingindo 10% em 2009. No entanto, ainda
persiste um alto analfabetismo funcional na
regio. Em 2009, entre a populao amazni-
ca considerada alfabetizada (89%), estima-se
que 23% eram analfabetos funcionais, isto ,
pessoas que sabem ler e escrever algo simples,
mas tm habilidades limitadas e difculdade de
compreenso (geralmente com menos de tres
anos de estudo). Ou seja, a taxa de analfabetis-
mo real (analfabetos + analfabetos funcionais)
na Amaznia em 2009 era de 33% (Figura 15).
Maranho apresentou o pior desempenho, com
51% da populao analfabeta real (19% analfa-
beta declarada e 31% funcionais), enquanto o
Amap apresentou o melhor resultado. Segun-
do o IBGE (2010c), a populao rural da regio
apresentava taxa de analfabetismo 2,5 vezes
superior s reas urbanas e a populao negra
e parda apresentava taxas de analfabetismo 2,3
vezes maior que a populao branca.
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
O
B
J
E
T
I
V
O
27
2
Figura 15. Taxa de analfabetismo e analfabetismo funcional (% da populao 15 anos)
na Amaznia em 2009 (IBGE, 2010c).
Figura 14. Taxa de analfabetismo (% da populao 15 anos) na Amaznia em 1990, 2001 e 2009
(Ipea, 2010d; IBGE, 2010c).
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
28
O
B
J
E
T
I
V
O
2
AUMENTO NOS ANOS DE ESTUDO
O tempo mnimo necessrio para a con-
cluso do ensino fundamental e mdio no
Brasil de 12 anos. Na Amaznia, o nmero
mdio de anos de estudo da populao (>25
anos de idade) passou de 5,1 anos, em 1990,
para 6,9 anos em 2009 (Figura 16). No Bra-
sil, subiu de 4,8 para 7,1 anos de estudo. Em
todos os Estados da Amaznia registrou-se au-
mento no nmero mdio de anos de estudo.
Em 2009, o Amap tinha a melhor situao,
Figura 16. Anos de estudo da populao ( 25 anos) na Amaznia em 1990, 2001 e 2009
(Ipea, 2010d; IBGE, 2010c).
com 8 anos de estudo, enquanto o Maranho
era o pior (apenas 5,6 anos). Existe uma gran-
de disparidade entre a zona urbana e rural.
Em 2009, a mdia de anos de estudo da po-
pulao rural era de 4,7 anos, enquanto na
zona urbana era de 7,2 anos (IBGE, 2010c).
Igualmente, a mdia de anos de estudo entre
a populao negra e parda era 20% inferior
em comparao com a populao branca na
regio (IBGE, 2010c).
AUMENTA FREQUNCIA ESCOLAR, MAS DEFASAGEM
ETRIA PERSISTE
Houve aumento relevante na taxa de
frequncia escolar lquida
17
de crianas e ado-
lescentes entre 7 e 14 anos que frequentavam
o ensino fundamental na Amaznia. Era 71%
em 1991 e subiu para 90% em 2009 (Tabela
2). No Brasil, passou de 81% para 91% nesse
perodo. Alm disso, houve uma melhora rele-
vante no caso de adolescentes (15 a 17 anos)
que frequentavam o ensino mdio na Amaz-
nia, passando de 9% (1991) para 47% (2009).
No Brasil, a evoluo foi similar, subindo de
18% para 51% no mesmo perodo. Ao consi-
derar a taxa bruta
18
, a frequncia escolar era
ainda maior em 2009: 97% para crianas de 7
a 14 anos e 84% para adolescentes de 15 a 17
anos (Tabela 3). A frequncia escolar nas reas
rurais tinha uma defasagem de 10% em 2008
(IBGE, 2009a). Como em todo o Brasil, na re-
gio amaznica h uma distoro idade-srie
elevada. Em 2008, 26% dos alunos do ensino
fundamental na Amaznia tinham idade supe-
rior recomendada (IBGE, 2008b). A distoro
idade-srie era ainda maior entre os alunos do
ensino mdio, atingindo 39%.
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
O
B
J
E
T
I
V
O
29
2
Tabela 2. Frequncia escolar lquida (%) de crianas (7 e 14 anos) e jovens (15 a 17 anos)
nos Estados da Amaznia (IBGE, 2010c).
Estados
Frequncia Escolar Lquida
1
(%)
7 a 14 anos
(Ensino Fundamental)
15 a 17 anos
(Ensino Mdio)
1991 2009 1991 2009
AC 62,3 89,5 8,2 51,3
AM 63,8 89,2 8,2 39,6
AP 77,1 91,3 12,7 54,5
MA 60,8 88,7 7,8 40,2
MT 76,7 90,9 11,9 53,3
PA 69,7 87,2 8,1 31,6
RO 75 90,7 7,7 45,7
RR 75,7 89,9 11 50,3
TO 69 93,2 6,4 55,2
Amaznia 70,9 90,1 9,1 46,9
Brasil 81,4 91,1 18,2 50,9
1
Taxa de frequncia escolar lquida a proporo de pessoas de uma determinada faixa etria que frequenta a escola
na srie adequada, conforme a adequao srie-idade do sistema educacional brasileiro, em relao ao total de pesso-
as da mesma faixa etria.
Tabela 3. Frequncia escolar bruta (%) de crianas (7 e 14 anos) e jovens (15 a 17 anos) nas zonas urbana
e rural nos Estados da Amaznia entre 1990 e 2009 (IBGE, 2010c).
Estados
Frequncia Escolar Bruta
1
(%)
Zona Urbana
Frequncia Escolar Bruta
1
(%)
Zona Rural
2
7 a 14 anos 15 a 17 anos 7 a 14 anos 15 a 17 anos
1990 2009 1990 2009 1990 2009 1990 2009
AC 77,9 97,8 64,4 78,7 - 90,8 - 73,4
AM 88,6 95,2 72,5 84,0 - 97,4 - 84,6
AP 85,4 97,4 55,3 88,4 - 98,6 - 85,5
MA 71,2 98,9 58,0 89,7 - 97,6 - 82,0
MT 82,5 98,2 48,0 83,1 - 97,2 - 86,4
PA 88,1 96,5 71,7 84,9 - 93,9 - 78,3
RO 88,7 97,5 64,5 81,9 - 95,5 - 82,9
RR 95,1 98,7 57,9 84,5 - 95,6 - 88,9
TO - 98,1 - 87,5 - 97,6 - 91,2
Amaznia 84,7 97,6 61,5 84,7 - 96,0 - 83,7
Brasil 84,4 97,8 56,6 86,2 - 96,9 - 80,7
1
Taxa de frequncia escolar bruta a proporo de pessoas de uma determinada faixa etria que frequenta escola em
relao ao total de pessoas da mesma faixa etria;
2
Dados para 1990 no disponveis na zona rural.
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
30
O
B
J
E
T
I
V
O
2
Quadro 5. Qualidade da educao bsica continua baixa
A frequncia escolar de crianas e jovens aumentou muito nas ltimas dcadas na Ama-
znia. No entanto, melhorar a qualidade da educao pblica na regio continua sendo o
grande desafo. O Inep, autarquia federal vinculada ao MEC, criou recentemente o ndice de
Desenvolvimento da Educao Bsica (Ideb) para monitorar a qualidade da educao bsica
no Brasil. Esse ndice varia de 0 (pssimo) a 10 (timo) e calculado a partir de dois conceitos
vitais para a qualidade da educao: aprovao e mdia de desempenho dos estudantes em
lngua portuguesa e matemtica (Inep 2010). Resultados do Ideb mostram que tanto o ensino
fundamental como o ensino mdio possuem baixa qualidade (Ideb < 5) na Amaznia. Em
2009, o Ideb mdio da regio era 3,7 para o ensino fundamental e 3,3 para o ensino mdio
(Inep 2009). Apesar de no serem to distantes da mdia brasileira (4 e 3,6 para o ensino
fundamental e mdio, respectivamente), esses valores mostram que a qualidade da educao
bsica tem que melhorar muito para atingir nveis mnimos aceitveis acima de 5. Entre os
municpios da Amaznia, a maioria tem ndice que oscila entre 3 e 4 (Figura 17). Destaque
para Fonte Boa (AM) e Campos de Jlio (MT), nicos municpios que possuem ndice Ideb
maior que 5 na regio.
Figura 17. ndice Ideb de qualidade da educao para o ensino fundamental na Amaznia em 2009
(Inep, 2009).
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
O
B
J
E
T
I
V
O
31
2
OBJETIVO 2 - ATINGIR O ENSINO BSICO UNIVERSAL
Meta 4: Garantir que, at 2015, as crianas terminem um ciclo completo de estudo.
Meta brasileira para 2015: 100% das crianas e jovens frequentando a escola.
Amaznia em 2009: 97% das crianas (7 a 14 anos) e 84% dos jovens (15-17 anos) fre-
quentavam a escola com taxa de defasagem de 26% e 39%, respectivamente.
Avaliao: A meta de 100% de crianas frequentando o ensino fundamental pode ser
atingida at 2015. Entretanto, se a taxa atual de adeso de jovens frequentando o ensino
mdio for mantida, a meta de 100% s ser atingida em 2021, o que j um grande
avano para a regio. No entanto, os outros indicadores de educao avaliados so pre-
ocupantes. essencial eliminar a disparidade entre as zonas urbanas e rurais, favorecer a
incluso da populao negra e parda no sistema educacional, combater o analfabetismo
funcional e melhorar a qualidade de ensino na regio.
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
32
O
B
J
E
T
I
V
O
3
Apesar dos direitos adquiridos pelas
mulheres ao longo do sculo XX, ainda h
considervel desigualdade entre os gneros
no mundo. Em geral, as mulheres sofrem com
a discriminao e possuem pouca participa-
o decisiva na sociedade atual, por exemplo,
na poltica e economia. Isso ocorre principal-
mente em pases menos desenvolvidos ou
onde aspectos culturais impedem a ascenso
feminina. Enquanto no houver valorizao
das mulheres e igualdade entre os gneros na
sociedade, difcilmente os demais ODMs se-
Objetivo 3.
Promover a igualdade entre os sexos e a
autonomia das mulheres
ro alcanados (ONU, 2010a). Isso porque a
qualidade de vida das mulheres e seu acesso
educao refetem diretamente em outros ob-
jetivos, tais como mortalidade materna, infan-
til e sade. Para monitorar a igualdade entre
os sexos e a autonomia das mulheres na Ama-
znia avaliamos trs grupos de indicadores:
(i) educao feminina (anos de estudo, anal-
fabetismo e frequncia escolar); (ii) proporo
de mulheres exercendo cargos polticos; e (iii)
populao feminina economicamente ativa e
rendimento.
NO H DISPARIDADE ENTRE OS GNEROS NA EDUCAO
Essa meta foi estabelecida principalmen-
te para pases com altas porcentagens de po-
pulao rural e aspectos culturais e religiosos
que discriminam a mulher. No Brasil, no h
disparidade signifcativa na educao entre os
sexos. De fato, a populao feminina apresenta
resultados ligeiramente superiores que a mas-
culina. As mulheres estudam mais tempo que
os homens na Amaznia. Em 2009, a mdia
de anos de estudo das mulheres maiores de
15 anos na regio era de 7,7 anos, enquanto
a mdia entre os homens era de 7 anos (IBGE,
2010c). A frequncia escolar de meninas de 7
a 14 anos subiu de 86%, em 1990, para 96%
em 2007 (Tabela 4); enquanto a frequncia dos
meninos subiu de 84% para 95% nesse pero-
do. Entre os jovens de 15 a 17 anos, a frequn-
cia feminina aumentou de 67%, em 1990, para
82% em 2007. Por sua vez, entre os rapazes, a
frequncia subiu de 58% para 81%.
Quanto ao analfabetismo, 11% das mu-
lheres com mais de 15 anos na Amaznia eram
analfabetas em 2007 (Figura 18). Isso represen-
ta uma diminuio de 9% na taxa feminina de
analfabetismo desde 1990. Com relao aos
homens, o analfabetismo caiu de 17% para
13% nesse perodo. O Maranho o Estado da
Amaznia que possui maior nmero de mulhe-
res que no sabem ler e escrever (19%). As me-
nores taxas de analfabetismo feminino foram
registradas em Roraima (9%), Amazonas (8%)
e Amap (7%). O analfabetismo funcional tam-
bm maior entre os homens (31%) do que en-
tre as mulheres (27%) na regio (IBGE, 2005).
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
O
B
J
E
T
I
V
O
33
3
Figura 18. Taxa de analfabetismo da populao feminina (populao 15 anos) nos Estados da Amaznia
(Ipea, 2007d).
Tabela 4. Frequncia escolar bruta (%) de crianas (7 e 14 anos) e de jovens (15 a 17 anos) por sexo na
Amaznia entre 1990 e 2007 (Ipea, 2007d).
Estados
Frequncia escolar de 7 a 14 anos (%)
1
Frequncia escolar de 15 a 17 anos (%)
1
1990 2007 1990 2007
Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem
AC 76 80 92 91 67 67 80 70
AM 89 88 97 96 78 35 90 85
AP 86 84 97 98 73 73 85 86
MA 76 67 95 94 66 51 84 80
MT 84 81 96 97 52 45 79 81
PA 89 87 96 95 77 68 78 78
RO 89 89 96 94 66 63 78 70
RR 97 93 98 96 55 62 81 94
TO 0 0 98 98 0 0 81 84
Amaznia 86 84 96 95 67 58 82 81
Brasil 85 83 97 97 61 53 83 81
1
No inclui populao rural.
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
34
O
B
J
E
T
I
V
O
3
MODESTA PARTICIPAO FEMININA NA POLTICA
Houve pequeno aumento na participa-
o feminina em cargos polticos eletivos na
Amaznia (Tabela 5).
19
A eleio de prefeitas
nos municpios da regio aumentou de 7%, em
1996, para 11% em 2008; e elas governam para
apenas 10% da populao amaznica. J a pro-
poro de vereadoras eleitas manteve-se estvel
em 14% nos anos 2000 e 2008. Com relao ao
parlamento federal e dos Estados amaznicos, a
Tabela 5. Proporo de mulheres eleitas prefeitas e vereadoras na Amaznia (TSE, 2010).
Estados
Prefeitas (%) Vereadoras (%)
1996 2000 2004 2008 2000 2004 2008
AC 5 5 9 9 14 12 14
AM 3 3 5 11 13 13 11
AP 6 6 13 19 21 15 20
MA 9 9 10 15 14 17 17
MT 6 5 4 6 14 13 13
PA 6 8 8 10 14 15 14
RO 6 8 10 6 10 12 12
RR 13 20 27 0 10 13 11
TO 9 9 12 16 16 16 14
Amaznia Legal 7 8 9 11 14 15 14
Brasil 5 6 7 11 12 13 16
Tabela 6. Proporo de mulheres eleitas deputadas (estaduais e federais) na Amaznia (TSE, 2010).
Estados
Deputadas (%)
Federais Estaduais
1994 2006 2010 1994 2006 2010
AC 25 13 25 0 21 17
AM 13 25 13 4 13 8
AP 25 50 38 6 13 29
MA 6 6 6 7 17 17
MT 13 13 0 13 4 8
PA 18 12 6 12 17 17
RO 13 13 13 21 4 13
RR 0 25 13 18 13 8
TO 25 13 13 0 13 17
Amaznia Legal 14 16 12 9 13 14
Brasil
1
6 9 9 8 11 13
1
Inclui Deputadas Distritais.
participao das mulheres tambm pequena.
A proporo de deputadas estaduais aumentou
de 9%, em 1994, para 14% em 2010. As depu-
tadas federais, por sua vez, representavam 14%
da Cmara Federal em 1994, porm sua repre-
sentao diminuiu para 12% em 2010 (Tabela
6). Em 2010 foram eleitas uma governadora (Ro-
seana Sarney no Maranho) e duas senadoras,
uma no Amazonas e a outra no Par
20
.
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
O
B
J
E
T
I
V
O
35
3
PARTICIPAO DAS MULHERES NA ECONOMIA DESIGUAL
Metade das mulheres em idade de traba-
lhar estava economicamente ativa na Amaz-
nia em 2009, enquanto essa proporo era su-
perior entre os homens (72%) (IBGE, 2010c).
21
Da populao feminina economicamente ativa,
12% estavam temporariamente desocupadas
naquele ano na Amaznia. Segundo o IBGE
(2010c), 17% das brasileiras economicamente
ativas eram trabalhadoras domsticas; 16,8%
estavam no comrcio; e 16,7% na educao,
sade e servios sociais. Com relao ao em-
prego formal com carteira assinada e os direitos
sociais garantidos, as mulheres representavam
apenas 25% do nmero total de empregos for-
mais na Amaznia em 2009 (MTE, 2010). Alm
disso, o rendimento das mulheres na regio era
inferior ao dos homens em at 38% para a mes-
ma faixa de educao e cargo (Figura 19). Con-
tudo, a Amaznia era menos desigual do que a
mdia nacional para esse indicador.
Figura 19. Percentual do rendimento mdio das mulheres ( 16 anos) ocupadas em relao ao dos ho-
mens, por grupos de anos de estudo, na Amaznia em 2009 (IBGE, 2010c).
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
36
O
B
J
E
T
I
V
O
3
OBJETIVO 3 - PROMOVER A IGUALDADE
ENTRE OS GNEROS
Meta 5: Eliminar as disparidades entre os sexos no ensino fundamental e mdio.
Amaznia em 2007: Meta atingida em anos anteriores, ou seja, no h disparidade rele-
vante entre a proporo de mulheres e de homens (entre 7 a 17 anos) que frequentam a
escola.
Avaliao: Apesar de a meta ter sido alcanada, os demais indicadores que avaliam a
igualdade entre os gneros mostram que preciso melhorias na regio, principalmente
na participao de mulheres na poltica e em um mercado de trabalho mais justo no que
se refere remunerao e benefcios sociais.
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
O
B
J
E
T
I
V
O
37
4
objetivo 4.
Reduzir mortalidade infantil
A mortalidade infantil refete as condies
socioeconmicas e ambientais de uma regio
assim como a condio de acesso a um sistema
de sade de qualidade. Alm disso, o acesso
da populao ao saneamento bsico tambm
est diretamente ligado mortalidade infantil
e esperana de vida da populao. Segundo
a OMS (2009), morrem anualmente cerca de 9
milhes de crianas com menos de 5 anos no
mundo, das quais cerca de dois teros na frica
e sudeste asitico. As principais causas diretas
da mortalidade so pneumonia, diarria, mal-
ria, sarampo e HIV/Aids; todas agravadas pela
m nutrio (OMS, 2009). A mortalidade infan-
til poderia ser reduzida em mais de 70% com
medidas preventivas como saneamento, educa-
o, higiene, amamentao e intervenes sim-
ples (acesso a antibiticos, hidratao oral, uso
de inseticidas e mosquiteiros) (ONU, 2010a).
Mundialmente, a meta estabelecida pela ONU
(Reduzir em dois teros, entre 1990 e 2015, a
mortalidade de crianas at 5 anos) difcilmen-
te ser alcanada at 2015 (ONU, 2010a).
No Brasil, foram registrados 51 mil bi-
tos de crianas com at 5 anos em 2008 (MS,
2010c). Isso representa uma reduo em qua-
se 60% na taxa de mortalidade infantil desde
1990. Neste caso, a meta estabelecida pela
ONU poder ser cumprida antes de 2015
(Brasil, 2010). No entanto, h disparidade en-
tre as regies do pas. O Nordeste e a Amaz-
nia Legal ainda apresentam as maiores taxas
de mortalidade do Brasil. Em 2009, o governo
federal estabeleceu um programa (Pacto pela
reduo da mortalidade infantil Nordeste -
Amaznia Legal)
22
com objetivo de reduzir a
mortalidade infantil em 5% ao ano em 256
municpios identifcados como crticos nessas
regies (Brasil, 2010). Alm da disparidade
regional, segundo a Ripsa (2008a), as bases
de dados nacionais sobre mortalidade apre-
sentam cobertura insatisfatria e uma propor-
o considervel dos bitos no registrada
pelas estatsticas ofciais (Ver Quadro 6: Sub-
registro da mortalidade infantil). Para avaliar
a situao da mortalidade infantil na Amaz-
nia utilizamos dois indicadores: (i) taxa de
mortalidade de crianas at 1 ano de idade; e
(ii) taxa de mortalidade de crianas at 5 anos
de idade.
MORTALIDADE INFANTIL AT 1 ANO DE IDADE DIMINUI
A mortalidade de crianas at 1 ano caiu
52% na Amaznia entre 1991 e 2009, ou seja,
passou de 51 para 25 bitos para cada 1.000
nascidos vivos (Figura 20 e 21). A maior queda
da mortalidade se deu na dcada de 1990. No
Brasil, a taxa de bitos caiu de 45 para 23 nesse
perodo. Roraima apresentou a maior reduo
proporcional na mortalidade infantil (63%) na
regio, enquanto o Acre apresentou a menor
reduo (31%). O Maranho melhorou, mas
continua apresentando o pior resultado da re-
gio e o segundo pior resultado do Brasil, com
37 bitos para cada 1.000 nascidos vivos. Ro-
raima apresenta o melhor resultado (18). Entre
2000 e 2009, a mortalidade infantil caiu em to-
dos os Estados. No Acre, a queda foi modesta,
apenas 5%.
A maioria (51%) dos bitos infantis ocor-
re nos primeiros 28 dias de vida (Brasil, 2010).
Por isso, prover bons cuidados mdicos para a
me durante a gravidez e o parto uma medi-
da essencial para garantir a sobrevivncia da
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
38
O
B
J
E
T
I
V
O
4
criana. Segundo o MS (2010b), em 2008, ape-
nas 4% das mes no foram a nenhuma consul-
ta pr-natal (em 1995 esse valor representava
24%). Estima-se que mais de 90% dos partos na
regio foram feitos em hospitais (MS 2010b)
23
,
dos quais 37% foram cesreas (MS, 2010b),
Figura 20. Mortalidade infantil at 1 ano de vida na Amaznia entre 1991 e 2009 (Pnud, 2003; MS,
2010c; IBGE, 2010e). Dados de 1993 no disponveis.
Figura 21. Mortalidade infantil at 1 ano de vida nos Estados da Amaznia em 1991, 2000 e 2009 (Pnud,
2003; IBGE, 2010e).
valor abaixo da mdia nacional (46%). Aps
o nascimento, o aleitamento materno funda-
mental para a sade da criana e deve ser asse-
gurado. Dados do MS (2010c) sugerem que as
mes amamentam mais na Amaznia que em
outras regies do pas.
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
O
B
J
E
T
I
V
O
39
4
REDUO DA MORTALIDADE AT 5 ANOS DE IDADE
A mortalidade de crianas at 5 anos
tambm caiu drasticamente na Amaznia entre
1991 e 2006: de 67 para 27 bitos para cada
1.000 nascidos vivos (Figura 22). No Brasil, a
taxa de bitos caiu de 59 para 25 nesse perodo.
Entre os Estados da regio, Tocantins apresen-
tou a maior queda proporcional na mortalidade
infantil (72%), enquanto o Acre apresentou a
menor reduo (32%). O Maranho e o Acre
apresentaram os piores resultados, respectiva-
mente 36 e 34 bitos para cada 1.000 nascidos
Figura 22. Mortalidade infantil at 5 anos de vida nos Estados da Amaznia em 1991, 2000 e 2006
(Pnud, 2003 e MS, 2010c).
vivos, enquanto Roraima apresentou o melhor
resultado (21). Em relao ao ano 2000, a mor-
talidade caiu em todos os Estados, exceto no
Acre. Em 2006, 19% das mortes infantis nessa
faixa etria na regio eram causadas por doen-
as do aparelho respiratrio e 17% por doen-
as infecciosas e parasitrias (MS, 2010a). A
diarria aguda, doena de fcil preveno e
tratamento, foi responsvel por 6% das mortes
de menores de 5 anos na Amaznia em 2006
(11% em Roraima e 10% no Acre).
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
40
O
B
J
E
T
I
V
O
4
Quadro 6. Sub-registro da mortalidade infantil
A drstica queda na mortalidade infantil o melhor resultado do Brasil em relao aos ODMs
(Brasil, 2010). Mas as taxas de mortalidade infantil brasileira so subestimadas. Anlises da Ripsa
(2006a) cruzando os dados dos nascidos vivos do Sistema de Informao sobre Mortalidade (SIM/
MS) e do censo demogrfco do IBGE estimam que at 72% dos bitos de menores de 1 ano no
sejam registrados no Brasil e 79% na Amaznia (Figura 23). Esse valor superior a 90% em Rorai-
ma, Estado que apresentou o melhor resultado na regio segundo as estatsticas ofciais do MS.
Figura 23. Razo entre bitos informados e estimados de crianas at 1 ano nos Estados da Amaznia
em 2006 (Ripsa, 2006a).
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
O
B
J
E
T
I
V
O
41
4
OBJETIVO 4 - REDUZIR A MORTALIDADE INFANTIL
Meta 6: Reduzir em dois teros, entre 1990 e 2015, a mortalidade de crianas at 5 anos.
Meta brasileira para 2015: 20 bitos/1.000 nascidos vivos.
Amaznia em 2006: 27 bitos/1.000 nascidos vivos.
Avaliao: Mantida a taxa atual de queda, essa meta poder ser atingida na Amaznia at
2015. No entanto, estimativas expressivas de sub-registro de bitos infantis representam um
problema grave e podem estar distorcendo os resultados.
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
42
Figura 24. Terras Indgenas em 2010 e desmatamento at 2009 na Amaznia (ISA, 2010; Inpe, 2010).
Avaliar o cumprimento dos Objetivos
de Desenvolvimento do Milnio (ODM) para
os povos indgenas da Amaznia um grande
desafo. Primeiro porque os critrios de cons-
truo dos ODM no atendem diretamente os
anseios e modos de bem-estar prprios dessas
populaes. Segundo porque o Estado brasilei-
ro dispe de poucos e fragmentrios levanta-
mentos especfcos, realizados com intervalos
de tempo regulares, que levem em conta as
noes nativas de desenvolvimento e que nos
permitam avaliar, de modo abrangente e segu-
ro, a qualidade de vida dos povos indgenas
24
.
A fragilidade dos mecanismos de moni-
toramento , por si s, um indicador central
da prpria precariedade do planejamento das
polticas pblicas voltadas a estas populaes
no Brasil. A criao de um sistema de informa-
SEO ESPECIAL.
Os povos indgenas e os Objetivos de
Desenvolvimento do Milnio
por Leandro Mahalem de Lima, Instituto Socioambiental (ISA)
es consistente e integrado fundamental,
no apenas para o acompanhamento, mas so-
bretudo para a efetivao de polticas pblicas
orientadas ao bem estar dos povos indgenas, a
partir de seus prprios termos.
Tendo em vista essas limitaes, apresen-
tamos aqui um breve balano da situao atual
dos povos indgenas da Amaznia, a partir dos
principais indicadores de qualidade de vida
vinculados proposta dos ODM
25
.
Populao e Terras Indgenas: A Amaz-
nia concentra mais de 98% da extenso de todas
as TIs do Brasil
26
. So 412 reas, que totalizam
cerca de 109 milhes de hectares, e correspon-
dem a 21,7% do territrio amaznico (Figura
24, Tabela 7). Vivem nas TIs cerca de 173 po-
vos, que totalizam uma populao aproximada
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
43
de 250.000 pessoas
27
. Aps longos perodos de
reduo ou ameaa de extino, a populao
indgena global do Brasil tm crescido nas l-
timas trs dcadas, a uma mdia de 3,5% ao
ano.
28
Ainda no se sabe se o crescimento da
populao indgena decorre da melhoria das
condies de vida (aumento das vacinaes e
segurana territorial) ou se produto de uma
recuperao demogrfca consciente. Em am-
bos os casos, o crescimento demonstra que a
qualidade de vida melhora, sobretudo a partir
do momento em que seus territrios de ocupa-
o tradicional lhes so assegurados. As reas
demarcadas correspondem a territrios de ocu-
pao tradicional, que constituem a base do
bem-estar tanto das geraes indgenas atuais
como das futuras. Houve avano no processo
jurdico de demarcao de TIs na Amaznia
nos ltimos anos. O grande desafo a consoli-
dao efetiva do usufruto exclusivo dos territ-
rios demarcados.
Pobreza e fome: A erradicao da po-
breza e da fome entre os povos indgenas est
intimamente associada garantia ao usufruto
exclusivo de seus territrios tradicionalmente
ocupados, defnidos a partir de seus usos, costu-
mes e tradies.
29
justamente a consolidao
territorial que permite que tais populaes pos-
sam produzir seus alimentos sua maneira, por
meio de atividades de pesca, caa, agricultura,
coleta e at mesmo pecuria. Ou seja, o desafo
Tabela 7. Situao das Terras Indgenas na Amaznia Legal em novembro de 2010 (Sisarp, 2010).
Situao N TIs rea (ha)
Em Identifcao 58 46.160
Com restrio de uso a no ndios 4 704.257
Total 62 (15,05%) 750.417 (0,69%)
Identifcada 7 (1,70%) 635.319 (0,58%)
Declarada 36 (8,74%) 5.101.885 (4,69%)
Reservada 6 38.846
Homologada 13 5.873.134
Reservada ou Homologada com Registro no CRI e/ou SPU 288 96.336.190
Total 307 (74,51%) 102.248.170 (94,03%)
Total Geral 412 (100%) 108.735.791 (100%)
da superao da pobreza extrema e da fome
est diretamente relacionada garantia territo-
rial, para que nas terras demarcadas os povos
indgenas possam desenvolver seus modos de
vida em plena liberdade e autonomia. Embora
se observe avanos neste sentido, bastante
improvvel que o pas consiga resolver todas
as questes jurdicas, presses e ameaas s TIs
da Amaznia at 2015.
Educao: A educao escolar indgena
diferenciada um direito garantido pela Cons-
tituio Federal de 1988.
30
Embora tenha ha-
vido avanos, ainda no se estruturou no pas
um sistema educacional indgena que leve em
conta seus interesses e necessidades, respei-
tando seus modos de conhecer e seu ritmo de
vida.
31
Desde 2008, o MEC tem realizado diver-
sas consultas aos povos indgenas com objeti-
vo de encaminhar a educao escolar indgena
diferenciada, ou seja, estruturar territrios et-
noeducacionais que partam de seus prprios
anseios e modos de conhecer.
Entre 1999 e 2007, houve expanso da
rede de escolas indgenas e crescimento de
quase 50% das matrculas de estudantes in-
dgenas (Inep/MEC, 2007 analisado por Gru-
pioni, 2008).
32
Nesse perodo, o percentual
de professores com ensino superior completo
passou de 9,9% para 13,2%. O percentual de
escolas indgenas com materiais didticos pr-
prios aumentou, passando de 30,5%, em 1999,
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
44
para 41,5% em 2005.
33
Esse indicador central
para avaliar se as escolas indgenas tm realiza-
do seu objetivo de valorizar as lnguas e os co-
nhecimentos tradicionais. Alm disso, apenas
5% das escolas contavam com computadores
e menos de 1% estavam conectadas a internet
em 2006 (Inep, 2007 analisado por Grupioni,
2008).
Embora a rede de ensino tenha se expan-
dido, as escolas ainda esto distantes de reali-
zar o ideal da educao diferenciada, uma vez
que ainda baixo o nmero de escolas indge-
nas que declararam incorporar em suas prticas
as lnguas, os conhecimentos tradicionais e os
materiais didticos prprios dos povos indge-
nas. Alm disso, h evidencias de que os bene-
fcios relacionados matrcula escolar (como a
merenda e o assalariamento)
34
constituem im-
portantes incentivos no processo de expanso
da rede de educao escolar.
Mortalidade infantil: A mortalidade in-
fantil um indicador crtico entre as popula-
es indgenas. Enquanto o Brasil registra que-
da da mortalidade de crianas menores de 1
ano, entre as crianas indgenas a taxa se man-
tm elevada. Entre 2005 e 2007, morriam 50
a cada 1.000 nascidos vivos anualmente (IDS-
SSL-Cebrap, 2009).
35
Isso representa um ndice
duas vezes maior que a mdia do pas. Alm
disso, ao considerar a mortalidade at 5 anos
de idade, os indgenas apresentam risco de
morrer quatro vezes maior do que crianas da
populao geral (IDS-SSL-Cebrap, 2009). Entre
as principais causas da mortalidade de crian-
as indgenas esto a desnutrio, pneumonia
e outras doenas respiratrias, desidratao e
causas perinatais. Com esses resultados, im-
possvel que a meta de reduo da mortalidade
infantil proposta pela ONU seja atingida entre
esses povos at 2015.
Sade: O acesso dos povos indgenas aos
servios bsicos de sade precrio na Amaz-
nia devido s distncias geogrfcas e ao desca-
so no atendimento (ISA, 2006). Por isso, o esta-
do da sade de muitos desses povos crtico.
Indicadores disso so as altas incidncias de
doenas como malria, tuberculose e DSTs. A
taxa de prevalncia de tuberculose entre os po-
vos indgenas de 101 para cada 100.000 pes-
soas (IDS-SSL-Cebrap 2009), ou seja, trs vezes
maior que a mdia nacional. A tuberculose foi
a causa de 3% dos bitos indgenas. Quanto
malria, h uma tendncia de aumento na taxa
a partir de 2004. O nmero de casos passou de
13.911, em 2004, para 33.693 casos em 2007
(Funasa, 2008). Os Estados do Amap, Ama-
zonas, Par, Rondnia e Acre apresentam as
maiores taxas da doena entre os povos indge-
nas da regio. No entanto, a expanso da mal-
ria causada pelo Plasmodium Falciparum (mais
letal) preocupante nas TIs do Mato Grosso,
Maranho e Par.
Segundo o Diagnstico Situacional do
Subsistema de Sade Indgena (IDS-SSL-Ce-
brap, 2009), esses resultados indicam que as
aes governamentais de controle esto sendo
inefcientes ou que h outros problemas envol-
vidos como expanso da atividade garimpeira e
madeireira e maior degradao ambiental. Um
exemplo da precariedade da sade indgena
a situao dramtica vivida pelos povos indge-
nas do Vale do Javari, no Amazonas. Somente
entre os dias 1 de outubro e 2 de novembro de
2010 morreram 12 indgenas.
Em outubro de 2010, em atendimen-
to a antigas reivindicaes e protestos, o go-
verno federal criou a Secretaria Especial de
Sade Indgena (Decreto 7.336), ligada dire-
tamente ao MS. Ainda em processo de estru-
turao, a Secretaria substituir a Funasa, que
demonstrou inefcincia no atendimento aos
povos indgenas. Ainda cedo para avaliar
se haver efetivamente qualquer melhoria na
sade indgena com a criao da nova secre-
taria. Caso no haja mudanas, ser impro-
vvel que as metas de sade propostas pela
ONU sejam atingidas entre os povos indge-
nas at 2015.
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
45
Sustentabilidade ambiental: As TIs so
as reas Protegidas mais conservadas na Ama-
znia, com desmatamento acumulado de ape-
nas 1,27% (12.481 quilmetros quadrados)
contra 1,47% das Unidades de Conservao e
21% das reas no protegidas (Imazon e ISA,
no prelo). Contudo, as TIs ainda sofrem com a
presso externa por causa, principalmente, da
cobia por seus recursos naturais como ouro
e madeira. Esse processo de extrao ilegal de
recursos naturais est diretamente relacionado
a confitos e outras formas de violncia contra
esses povos.
Em 2008, foi criada, no mbito do MMA
36
,
a PNGATI, orientada implantao de aes
que apiem os povos indgenas em sua busca
pela gesto e manejo sustentvel dos recursos
naturais dessas terras. Seu objetivo contribuir,
prioritariamente, para a proteo dos territ-
rios e das condies ambientais necessrias
sobrevivncia fsica e cultural, bem como ao
bem-estar das comunidades indgenas. Os ob-
jetivos e as diretrizes da PNGATI vm sendo
debatidos com os povos indgenas e suas orga-
nizaes parceiras por meio de consultas.
Ameaa e violncia: Estima-se que 99
das 412 TIs da regio amaznica esto em situ-
ao de ameaa permanente (Sisarp/ISA, 2010),
tanto fundiria (55) como em relao explora-
o ilegal dos recursos naturais (44). Alm dis-
so, houve mais de 474 ocorrncias de presso
territorial nos ltimos trs anos na regio: 344
relativas explorao de recursos e 130 casos
de presso fundiria. Segundo o Cimi (2009),
ocorreram pelo menos 132 casos de violn-
cia contra indgenas na Amaznia entre 2008
e 2009, dos quais 95 ocorrncias constituram
agresses e atentados contra a vida (45 casos
de agresso, 37 homicdios e 13 tentativas de
homicdio). As ocorrncias de violncia afe-
taram 61 TIs. Dentre estas, a TI Araribia (no
Maranho) concentrou 18 casos de violncia
14% de todas as ocorrncias (Cimi, 2009).
Vrios dos assassinatos, agresses e ameaas
ocorridos nessa TI estavam ligados a confitos
entre ndios e madeireiros, que h cerca de
vinte anos retiram madeira ilegalmente da TI e
pressionam no apenas os Guajajara, mas tam-
bm os Aw-Guaj
37
, que constituem um dos
ltimos povos caadores e coletores no Brasil,
de pouco ou nenhum contato permanente com
a sociedade regional.
Articulao de polticas e consolidao
de direitos: Nos ltimos anos, diversas polticas
e programas esto sendo criados em parceria
com os povos indgenas para garantir a susten-
tabilidade ambiental de suas terras e melhorar
a qualidade de vida. Em 2006, foi criada a Co-
misso Nacional de Poltica Indigenista (CNPI),
que junto com a Funai, tm a tarefa de articular
as aes estatais em defesa dos direitos ind-
genas e superar o modelo tutelar que vigiu no
pas at a Constituio Federal de 1988. Em
julho de 2009, a CNPI apresentou ao Congres-
so Nacional uma proposta de substituio do
Estatuto do ndio de 1973, que ainda aguarda
votao. O novo texto prope uma regulamen-
tao integrada e participativa sobre o patrim-
nio e conhecimentos tradicionais, a proteo
e gesto territorial e ambiental, as atividades
sustentveis e uso de recursos renovveis, o
aproveitamento de recursos minerais e hdri-
cos, a assistncia social, a educao escolar e o
atendimento sade diferenciado.
A consolidao e aprimoramento dos di-
reitos indgenas, bem como a integrao das
polticas pblicas a eles direcionadas so fun-
damentais para garantir melhorias na qualidade
de vida dessas populaes. Somente quando as
polticas pblicas integradas conseguirem efe-
tivamente partir dos termos e anseios desssas
populaes, que habitam a regio h milnios,
e eles por si prprios considerarem que vivem
a boa vida, que poderemos afrmar que os
ODM estaro consolidados para os povos in-
dgenas da Amaznia. Esta meta parece ainda
estar longe de ser alcanada.
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
46
O
B
J
E
T
I
V
O
5
objetivo 5.
Melhorar a sade materna
Conceber a vida uma experincia sagra-
da. Porm, a maternidade no um momento
de felicidade para todas as mulheres no mundo,
pois para algumas representa sofrimento e mor-
te. Segundo a OMS (2010a), mais de 500 mil
mulheres morrem no mundo anualmente du-
rante a gravidez, o parto e o perodo ps-parto
de 42 dias. No Brasil, foram registrados mais de
1,5 mil bitos maternos em 2008 (MS, 2010c).
A taxa de mortalidade materna mdia nos pases
desenvolvidos de 9 bitos para cada 100 mil
nascidos vivos, enquanto na frica a taxa su-
perior a 800 (OMS, 2007). Hemorragia e hiper-
tenso causam mais da metade desses bitos no
mundo (OMS, 2010a) e no Brasil (Brasil, 2010);
as outras principais causas so: infeco, aborto
inseguro e obstruo no trabalho de parto. As
principais vtimas de mortalidade materna nas
Amricas so as mulheres pobres, indgenas e
negras das zonas rurais (CIDH, 2010).
A maioria dos casos de mortes maternas
pode ser prevenida com intervenes mdicas
simples (ONU, 2010a). Planejamento familiar,
atendimento pr-natal qualifcado e ateno
adequada durante o trabalho de parto e no pe-
rodo ps-parto so algumas das medidas que
podem reverter o quadro de mortalidade ma-
terna no Brasil e no mundo. Para avaliar a situa-
o da sade materna na Amaznia, utilizamos
dois indicadores: (i) taxa de mortalidade mater-
na e (ii) nmero de consultas pr-natal. Alm
disso, apresentamos informaes adicionais
referentes ao planejamento familiar na regio
(Ver Quadro 7).
MORTALIDADE MATERNA AUMENTA
Os bitos maternos aumentaram em 22%
na Amaznia entre 1996 e 2008, passando de
57 para 70 bitos para cada 100 mil nascidos
vivos (Figura 25). Em 2008, foram registrados
53 bitos maternos para cada 100 mil nasci-
dos vivos no Brasil, valor 32% inferior regio
amaznica. Entre os Estados da regio, a taxa de
mortalidade materna diminuiu no Acre (55%) e
no Maranho (7%); manteve-se estvel no Par
e Amazonas; e aumentou nos outros Estados (Fi-
gura 26). Em 2008, Maranho, Tocantins e Ro-
raima apresentaram as maiores taxas de bitos
maternos, respectivamente 94, 90 e 90 bitos
para cada 100 mil nascidos vivos. Acre (28) e
Rondnia (41) apresentaram as menores taxas.
Segundo estimativas da Ripsa (2006b), 29% dos
bitos maternos no so registrados no Brasil.
Em 2010, o governo brasileiro apresen-
tou taxas de mortalidade materna corrigidas e
estimativas para o ano de 1990 no Relatrio
Nacional de Acompanhamento (Brasil, 2010).
Esses novos dados apresentam taxas de mortali-
dade superiores s dos dados disponibilizados
pelo MS (2010c). Em 1990, estimou-se uma
taxa de mortalidade materna de 140 bitos
para cada 100 mil nascidos vivos no Brasil e,
em 2007, esse valor caiu para 75, segundo as
taxas corrigidas (Brasil, 2010). Os dados cor-
rigidos e as estimativas para 1990 modifcam
a meta brasileira esperada para 2015 (Reduzir
em 75%, entre 1990 e 2015, a taxa de mortali-
dade materna) em relao quela apresentada
em nosso estudo anterior (Celentano e Verssi-
mo 2007a). A meta brasileira passou a ser 35
bitos para cada 100.000 nascidos vivos. Nes-
te estudo, apresentamos os dados publicados
pelo MS porque as novas estimativas governa-
mentais apresentadas no Relatrio Nacional de
Acompanhamento (Brasil, 2010) no esto dis-
ponveis para os Estados.
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
O
B
J
E
T
I
V
O
47
5
Figura 25. Evoluo da mortalidade materna na Amaznia entre 1996 e 2008 (MS, 2010c).
Figura 26. Mortalidade materna nos Estados da Amaznia em 1996, 2000 e 2008 (MS, 2010c).
AUMENTA A COBERTURA DE CONSULTAS PR-NATAL
Garantir acesso universal sade repro-
dutiva um desafo, principalmente em regies
como a Amaznia onde muitas comunidades
vivem isoladas em reas forestais, em que o
acesso s possvel por barcos ou avies. Se-
gundo a OMS (2007), apenas 1 a cada 3 mulhe-
res de zonas rurais recebem os cuidados reco-
mendados durante a gravidez. Na Amaznia,
a cobertura de consultas pr-natal aumentou
muito entre 1995 e 2008 (Tabela 8). Em 1995,
estimava-se que 24% das gestantes no foram
a nenhuma consulta, enquanto em 2008 essa
estimativa diminuiu para apenas 4%. Acre e
Amap foram os Estados com a pior cobertura
de consultas pr-natal, enquanto Mato Grosso,
Rondnia e Tocantins apresentaram os melho-
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
48
O
B
J
E
T
I
V
O
5
res resultados. Na Amaznia, apenas 35% das
gestantes foram s recomendadas sete ou mais
consultas pr-natal em 2008, enquanto a m-
dia brasileira foi bem maior: 57%. Apesar dos
avanos da cobertura de ateno pr-natal, a
qualidade da ateno deve ser melhorada no
pas garantindo acesso aos equipamentos ne-
cessrios para o diagnstico e preveno de
problemas relacionados gestao (Brasil,
2010).
As estimativas governamentais apontam
que mais de 90% dos partos na regio foram
feitos em hospitais e assistidos por profssionais
qualifcados (MS, 2010d), mas esse indicador
pode estar superestimado para a regio
38
. A
proporo de partos cesreos na regio (37%)
inferior mdia nacional (46%; MS, 2010d).
Contudo, um valor acima do recomendado
pela OMS (15%), j que essa interveno traz
mais riscos mulher e ao beb (Brasil, 2010).
Embora as estatsticas ofciais apontem melho-
rias na cobertura de sade reprodutiva, Ripsa
(2008b) adverte que essas estimativas podem
estar superestimadas em reas que apresentam
cobertura insufciente do sistema de informa-
o sobre nascidos vivos.
Tabela 8. Proporo de nascidos vivos (%) por nmero de consultas de pr-natal
(MS, 2010d; IBGE, 2010c).
1995 2008
UF Nenhuma 1 - 6 7 Nenhuma 1-3 4-6 7
AC 26 40 34 9 21 39 28
AM 64 10 26 6 19 42 31
AP 19 46 35 8 22 41 27
MA 17 42 41 2 20 52 24
MT 12 47 41 1 5 31 62
PA 45 46 9 3 14 53 28
RO 8 59 32 1 13 44 39
RR 18 49 34 5 20 38 36
TO 6 44 50 1 10 46 42
Amaznia Legal 24 43 34 4 16 43 35
Brasil 11 40 50 2 8 32 57
Quadro 7. Planejamento familiar na Amaznia
O planejamento familiar um direito das mulheres, pois infuencia diretamente sua
sade e bem-estar assim como de seu beb. Para isso, a populao precisa ter acesso in-
formao e aos mtodos contraceptivos. Segundo a OMS (2010b), a pobreza e a falta de
educao so os grandes limitantes para o planejamento familiar no mundo. A ausncia do
planejamento resulta em gravidez na adolescncia, gravidez indesejada, mortalidade infantil,
violncia domstica, aborto, entre outros problemas. Segundo o IBGE (2010c), em 2009, a
mdia de flhos das mulheres amaznicas de 2,5 diminuiu em relao ao ano de 1990 que
era 4, mas continua acima da mdia brasileira (1,9).
A gravidez na adolescncia na regio a mais alta do pas: 1,5% das mes tinham me-
nos de 14 anos e 26% tinham entre 15 e 19 anos em 2008 (MS, 2010e). De fato, 11% das
mulheres entre 15 e 17 j tinham flho na regio em 2008, enquanto a mdia brasileira era
de 6% (IBGE, 2008b). Segundo o IBGE (2010c), as mulheres mais escolarizadas tm menos
flhos e so mes mais tarde. A mortalidade de mes adolescentes responde por 16% dos bi-
tos maternos (Brasil, 2010a). Em 2007, 18,5% das mes amaznicas criavam seus flhos sem
cnjuge, enquanto a mdia brasileira era de 17,4% (IBGE, 2008b). Esses indicadores apontam
que a famlia amaznica tem maior vulnerabilidade que a mdia nacional.
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
O
B
J
E
T
I
V
O
49
5
OBJETIVO 5 MELHORAR A SADE MATERNA
Meta 7: Reduzir em 75%, entre 1990 e 2015, a taxa de mortalidade materna.
Meta brasileira para 2015: 35 bitos/100.000 nascidos vivos.
39
Amaznia em 2008: 70 bitos/100.000 nascidos vivos.
Avaliao: No houve melhoria para esse indicador e, se essa tendncia for mantida,
essa meta no ser atingida em 2015 para a Amaznia. A nica exceo positiva o
Acre, onde a meta foi atingida em 2008. Contudo, o Estado dever se esforar para man-
ter essa taxa.
Meta 8: Garantir acesso universal sade reprodutiva.
Avaliao: O acesso da populao a consultas pr-natal e profssionais especializados
durante o parto aumentou, mas ainda no universal na Amaznia. Existe disparidade
entre populaes urbanas e rurais. Alm disso, h evidncias de que a qualidade da
ateno deve ser melhorada.
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
50
O
B
J
E
T
I
V
O
6
A Aids e a tuberculose so as principais
causas de mortes por infeco no mundo. Em
2008, 33,4 milhes de pessoas viviam com o
vrus HIV (70% na frica) e 2 milhes de pes-
soas morreram vtimas dele (ONU, 2010a).
Contudo, dados epidemiolgicos recentes
indicam que a propagao da doena est se
estabilizando na maioria das regies do plane-
ta (ONU, 2010a). O nmero global de novos
casos caiu de 3,5 milhes, em 1996, para 2,7
milhes em 2008. No Brasil, estima-se que 630
mil pessoas vivam com HIV/Aids e que a taxa
de incidncia se mantm estvel desde o ano
2000 (Brasil, 2010). O Brasil foi pioneiro em
garantir o acesso gratuito universal terapia
antirretroviral na rede pblica de sade, o que
resultou no aumento signifcativo da sobrevida
e qualidade de vida dos pacientes diagnostica-
dos (Brasil, 2010). Relatrios ofciais apontam
que o Norte a regio onde a Aids mais cresce
no Brasil (MS, 2010f). Um dos principais fa-
tores a alta taxa de transmisso vertical, ou
seja, quando o beb contaminado durante a
gestao. Segundo o Programa Conjunto das
Naes Unidas sobre HIV/Aids (Unaids), isso
refete a inabilidade dos governos estaduais e
municipais em criar estratgias de combate e
preveno, j que em outras regies do pas a
doena est estabilizada.
Objetivo 6.
Combater HIV/Aids, malria e outras doenas
Por sua vez, a tuberculose apresenta uma
taxa mundial de incidncia de 164 casos para
cada 100 mil pessoas. Em 2008, 9,4 milhes de
novos casos foram diagnosticados no mundo e
1,8 milho de bitos foram registrados; metade
das vtimas tambm era portadora do vrus da
Aids (ONU, 2010a). No mundo, a diminuio da
incidncia de tuberculose tem sido lenta (ONU,
2010a). No Brasil, a taxa de incidncia da doen-
a tem registrado queda desde 2004. Contudo,
o pas ocupa a 18 posio em nmero de casos
de tuberculose no mundo, registrando em m-
dia 85 mil novos casos por ano (Brasil, 2010).
A malria outra doena infecciosa im-
portante no Brasil e no mundo. Segundo a ONU
(2010), metade da populao mundial est sob
risco de contrair malria. Em 2008, estima-se
que houve 243 milhes de novos casos e 863
mil mortes por malria, 89% dos bitos na fri-
ca. No Brasil, onde a Amaznia reponde pela
quase totalidade dos casos, houve uma reduo
no nmero de casos e mortes por malria nos
ltimos anos (Brasil, 2010). Alm disso, outras
doenas infecciosas so importantes na regio
amaznica como a leishmaniose e a dengue.
Por isso, para avaliar o Objetivo do Milnio 6,
utilizamos a taxa de incidncia dessas cinco
doenas: (i) Aids; (ii) malria; (iii) tuberculose e
leishmaniose; e (iv) dengue.
40
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
O
B
J
E
T
I
V
O
51
6
AUMENTA TAXA DE INCIDNCIA DE AIDS
A taxa de incidncia de Aids aumentou
exponencialmente entre 1990 e 2008 na Ama-
znia (Figura 27 e 28), enquanto a taxa brasi-
leira apresentou sinais de reduo. A taxa na
regio passou de 1,2 para 17 casos para cada
100 mil habitantes.
41
Em 2008, a taxa de inci-
dncia de Aids na Amaznia quase alcanou
a taxa brasileira (18 casos para cada 100 mil
habitantes). Roraima e Amazonas foram os Es-
tados com maior taxa de Aids em 2008, respec-
tivamente, 32 e 26 casos registrados da doena
para cada 100 mil habitantes. Naquele ano, o
Acre apresentou a menor taxa da doena (8).
Dados ofciais de mortalidade (MS, 2010c) in-
dicam que 9% das mortes por Aids no Brasil
em 2008 ocorreram na Amaznia, ou seja, 951
casos fatais da doena. Isso indica uma taxa
de quatro bitos para cada 100 mil habitantes,
taxa inferior mdia brasileira (seis bitos para
cada 100 habitantes). Par o Estado onde o
maior nmero de bitos por Aids foi registrado
em 2006 (300 bitos).
Em 2008, os municpios com maior n-
mero de casos registrados de Aids na Amaznia
foram Manaus (755 novos casos registrados),
Belm (542), So Luis (323), Cuiab (163),
Porto Velho (159) e Boa Vista (117). J a dis-
tribuio municipal da taxa de Aids na Amaz-
nia naquele ano (Figura 29) somente contava
com uma capital no topo da lista (Boa Vista,
com 48 casos para cada 100 mil habitantes).
Dos dez municpios com as maiores taxas da
doena, cinco estavam no Mato Grosso (Ara-
guainha, Indiava, Juruela, Ponte Branca e Aco-
rizal), trs no Tocantins (Luzinpolis, Alianza
do Tocantins e Aguiarnpolis), um no Amap
(Oiapoque) e um no Maranho (Porto Rico do
Maranho).
Figura 27. Evoluo da taxa de incidncia de Aids na Amaznia entre 1990 e 2008 (MS, 2010g).
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
52
O
B
J
E
T
I
V
O
6
Figura 29. Distribuio de casos de Aids nos municpios da Amaznia em 2008 (MS, 2010h).
Figura 28. Taxa de incidncia de Aids nos Estados da Amaznia em 1990, 2000 e 2008 (MS, 2010g).
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
O
B
J
E
T
I
V
O
53
6
MALRIA CAIU, MAS CONTINUA ELEVADA
A Amaznia responde por mais de 99%
dos casos de malria do Brasil. Em 2009 foram
registrados mais de 306 mil casos novos na re-
gio, o que representa uma queda em relao
aos anos anteriores (Figura 30). De fato, foi o
menor nmero de casos registrados desde 1990.
Os Estados que mais registraram casos da doen-
a em 2009 foram Par (99,5 mil casos) e Ama-
zonas (98,9 mil casos), enquanto Tocantins foi
onde menos se registrou novos casos (128).
42
Por sua vez, a taxa de incidncia de ma-
lria caiu de 3,3 mil casos para cada 100 mil
habitantes, em 1990, para 1,2 mil casos em
2009 (Figura 31). Em relao a 1990, a taxa de
incidncia de malria caiu em todos os Esta-
dos, com exceo do Amazonas e Acre, onde
a taxa subiu respectivamente 109% e 10%. Em
2009, os Estados com maior taxa de incidncia
de malria foram Acre (3,9 mil casos para cada
100 mil habitantes), Roraima (3,6 mil casos) e
Amazonas (2,9 mil casos). A grande futuao
do nmero de casos e da taxa de malria na
Amaznia nos ltimos vinte anos indica que
essa doena ainda est longe de ser controlada
na regio. Dados de mortalidade (MS, 2010c)
indicam 93 bitos causados por malria no Bra-
sil em 2007, dos quais 85% foram registrados
na Amaznia.
Em 2009, 24 municpios da Amaznia
tinham uma taxa de incidncia de malria su-
perior a 100 casos para cada 1 mil habitantes
(Figura 32). Dos 10 municpios com as maio-
res taxas da doena, trs estavam no Amazonas
(Atalaia do Norte, Ipixuna e Alvares), dois no
Par (Anajs e Novo Progresso), dois no Ama-
p (Oiapoque e Serra do Navio), dois no Acre
(Mncio Lima e Cruzeiro do Sul) e um em Ro-
raima (Cant). As reas de vegetao de cer-
rado e as fronteiras antigas de desmatamento
apresentam baixa intensidade da doena.
Figura 30. Casos de malria na Amaznia entre 1990 e 2009 (MS, 2010i).
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
54
O
B
J
E
T
I
V
O
6
Figura 31. Taxa de incidncia de malria nos Estados da Amaznia em 1990, 2000 e 2009 (MS, 2010i).
Figura 32. Distribuio de malria (nmero de casos por 1 mil habitantes) nos municpios da Amaznia
em 2009 (MS, 2010j).
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
O
B
J
E
T
I
V
O
55
6
TUBERCULOSE E LEISHMANIOSE SE MANTM ELEVADAS
A taxa de incidncia de tuberculose caiu
47% na Amaznia entre 1990 e 2007 (Figura
33), passando de 73 casos para cada 100 mil
habitantes para 38 casos respectivamente, va-
lor similar mdia brasileira. Entre os Estados,
todos apresentaram queda na taxa de incidn-
cia da doena nesse perodo. Em 2007, Ama-
zonas e Par foram os Estados que registraram
maior taxa de incidncia de tuberculose, res-
pectivamente 67 e 46 casos para cada 100 mil
habitantes (Figura 34). Tocantins foi o Estado
com menor incidncia (16 casos). Em 2007
foram registrados 592 bitos por tuberculose
na Amaznia (13% dos bitos brasileiros por
essa doena); Par e Maranho registraram os
maiores nmeros de bitos por tuberculose
naquele ano, respectivamente, 169 e 159 bi-
tos (MS, 2010c).
A taxa de incidncia de leishmaniose se
manteve estvel em 74 casos para cada 100 mil
habitantes na Amaznia entre 1990 e 2007 (Fi-
gura 33). Esse valor bastante superior mdia
brasileira (11 casos para cada 100 mil habitan-
tes), uma vez que essa doena afeta principal-
mente reas forestais. Entre os Estados da re-
gio, Acre e Amap apresentaram aumento de
incidncia da doena nesse perodo, enquanto
os demais apresentaram queda. Em 2007, Acre
e Amap foram os Estados que registraram maior
taxa de incidncia de leishmaniose, respectiva-
mente 129 e 104 casos para cada 100 mil habi-
tantes (Figura 35). Tocantins e Maranho foram
os Estados com menores taxas de incidncia,
respectivamente, 36 e 38. Em 2007 foram re-
gistrados 305 bitos por leishmaniose no Brasil,
dos quais 85 na Amaznia (MS, 2010g).
Figura 33. Evoluo da taxa de incidncia de tuberculose, leishmaniose e dengue na Amaznia entre
1990 e 2007 (MS, 2010g).
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
56
O
B
J
E
T
I
V
O
6
Figura 35. Taxa de incidncia de leishmaniose nos Estados da Amaznia em 1990, 2000 e 2007
(MS, 2010g).
Figura 34. Taxa de incidncia de tuberculose nos Estados da Amaznia em 1990, 2000 e 2007
(MS, 2010g).
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
O
B
J
E
T
I
V
O
57
6
DENGUE DISPARA
A taxa de incidncia de dengue aumen-
tou 43% na Amaznia entre 2000 e 2007,
passando de 242 casos para cada 100 mil
habitantes para 347 (Figura 33). No Brasil, a
taxa de dengue aumentou ainda mais nesse
perodo (316%), entretanto, a mdia nacional
(266 casos para cada 100 mil habitantes) fcou
abaixo da regio amaznica. Entre os Estados
da regio, quase todos apresentaram aumento
na taxa de dengue, com exceo de Roraima,
Figura 36. Taxa de incidncia de dengue nos Estados da Amaznia em 1990, 2000 e 2007 (MS, 2010g).
Acre e Amazonas. Em 2007, Tocantins, Mato
Grosso e Amap foram os Estados que regis-
traram as maiores taxas de incidncia de den-
gue, respectivamente 952, 565 e 562 casos
para cada 100 mil habitantes (Figura 36). Acre
e Amazonas foram os Estados com as meno-
res taxas de incidncia, respectivamente, 75 e
62. Em 2007 foram registrados 137 bitos por
dengue no Brasil, dos quais 37 na Amaznia
(MS, 2010c).
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
58
O
B
J
E
T
I
V
O
6
Quadro 8. Amaznia lder mundial em hansenase
Brasil lder mundial em hansenase, enfermidade causada pela bactria Mycobacte-
rium leprae. Em 2007, foram registrados mais de 41 mil novos casos no pas. Desses casos,
40% foram registrados na Amaznia. Par e Maranho so os lderes brasileiros, respecti-
vamente, 4.509 e 4.403 novos casos somente em 2007. A taxa da doena para cada 10 mil
habitantes foi 5,1 na Amaznia em 2007, enquanto nas outras regies brasileiras variou de
0,6 no Sul a 2,7 no Nordeste (exceto Maranho). A hansenase uma doena contagiosa, mas
que tem cura se for detectada precocemente.
Quadro 9. Sade pblica na Amaznia
Em 2007, havia menos de um mdico para cada mil habitantes na Amaznia, enquanto
a mdia brasileira era de quase dois mdicos para cada mil habitantes (MS, 2010l). O Mara-
nho o Estado brasileiro com menor nmero de mdicos (0,59) por mil habitantes. Embora
altos salrios sejam ofertados, a regio no atrai os profssionais seja pela distncia geogrfca
ou pela falta de recursos mnimos (Amigos da Terra Brasil, 2010). Para resolver esse proble-
ma, o MS pretende enviar regio a Fora Nacional de Sade, com um grupo de mdicos
e profssionais da sade para atuarem em pontos remotos do pas (Amigos da Terra Brasil,
2010). Haver uma seleo pblica de candidatos, e a proposta prev uma rotatividade dos
profssionais entre as cidades cadastradas. Alm de atrair profssionais da sade, grandes in-
vestimentos devem ser feitos para criar boas condies para que eles exeram suas funes.
Mesmo com problemas histricos de acesso a um sistema de sade pblica de qualidade na
regio, a esperana de vida da populao amaznica aumentou em 4 anos entre 1991 e 2007,
passando de 66 para 71 anos (valor prximo da mdia brasileira de 72 anos). Em 2007, o
Maranho tinha a expectativa de vida mais baixa da regio (67 anos) e o Mato Grosso a mais
alta (73).
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
O
B
J
E
T
I
V
O
59
6
OBJETIVO 6 COMBATER AIDS,
MALRIA E OUTRAS DOENAS
Meta 9: At 2015, ter detido e comeado a reduzir a propagao do HIV/Aids.
Amaznia em 2008: 17 casos de Aids para cada 100 mil habitantes.
Avaliao: A meta no ser atingida, uma vez que a taxa de propagao da doena tem
aumentado na regio.
?
Meta 10: Garantir, at 2010, acesso universal a tratamento para HIV/Aids para todos.
Avaliao: A meta no foi avaliada pela indisponibilidade de dados regionais. No entan-
to, importante destacar que o Brasil foi pioneiro em garantir o acesso gratuito universal
terapia antirretroviral na rede pblica de sade.
Meta 11: At 2015, ter detido e comeado a reduzir a incidncia de malria e de outras
doenas graves.
Amaznia: Mais de 1,2 mil casos de malria para cada 100 mil habitantes em 2009.
Alm disso, taxas altas de incidncia de tuberculose (48 casos para cada 100 mil habi-
tantes), leishmaniose (74) e dengue (347).
Avaliao: Embora a incidncia de malria e de tuberculose tenha diminudo entre 1990
e 2004, essas doenas ainda persistem em taxas elevadas. Alm disso, a regio tem inci-
dncia muito alta de dengue e leishmaniose tegumentar.
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
60
Est faltando um grande objetivo para
o Milnio: a Paz Mundial. Na Amaznia, o
avano da fronteira de desmatamento um
processo violento. Povos indgenas, popula-
es tradicionais e pequenos produtores tm
sido historicamente as maiores vtimas nesse
processo. H confitos pela terra e pelos re-
cursos naturais, grilagem de terras pblicas,
assassinatos rurais e altas taxas de violncia
urbana. Alm disso, anualmente registram-se
centenas de casos de trabalho em condies
anlogas s de escravido. Ou seja, um pro-
cesso de degradao dos recursos naturais e
do ser humano.
Para ilustrar o problema da violncia
no campo na regio amaznica (Figura 37),
alguns nmeros so ilustrativos. Segundo a
CPT (2010) foram registrados 2.118 confitos
pela terra entre 2003 e 2009 (32% destes no
Par). Somente em 2009, 319 confitos fo-
SEO ESPECIAL.
A Paz
ram registrados. Nesse mesmo perodo, 179
pessoas foram assassinadas no campo vti-
mas dos confitos. Novamente, o Par est
na frente com o maior nmero de mortes
no campo (64%), seguido pelo Mato Grosso
(13%) e Rondnia (9%). Alm disso, 80 ind-
genas foram assassinados na Amaznia entre
2004 e 2009, principalmente no Maranho
(25%) e em Roraima (14%) (Cimi, 2010). O
trabalho em condies anlogas s de escra-
vido tambm persiste nas reas rurais da
Amaznia. Mais de 1.400 casos de trabalho
nessas condies foram registrados entre
2003 e 2009 (60% deles no Par) e mais de
15 mil pessoas foram libertadas da condio
de trabalho forado na Amaznia. A extrao
ilegal de madeira, a produo de carvo ve-
getal e a pecuria so as atividades que mais
contribuem para esse problema na Amaznia
(ONU, 2010b).
Figura 37. Violncia no campo na Amaznia entre 2003 e 2009 (CPT, 2010).
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
61
Em 2003 foi estabelecido o Plano Na-
cional para a Erradicao do Trabalho Escravo
pelo MTE e foi implantada a Lista Suja, ou seja,
um cadastro das empresas que contratavam a
mo-de-obra escrava (Portaria 540, de 15 de
outubro de 2004). Em 2005 foi elaborado o
Pacto Nacional pela Erradicao do Trabalho
Escravo, uma parceria do Instituto Ethos, Insti-
tuto Observatrio Social, Reprter Brasil e OIT,
com objetivo de estabelecer restries comer-
ciais a todos envolvidos com a Lista Suja.
Essas iniciativas contriburam para a diminui-
o dessa prtica ilegal no Brasil. No entanto,
dados atuais mostram que o trabalho escravo
ainda est longe de ser erradicado no pas.
A violncia no exclusividade do campo.
Muitas cidades amaznicas registram altas taxas
de homicdios (Figura 38). Em 2008, 6.815 pesso-
as foram assassinadas na regio (14% dos assassi-
natos brasileiros daquele ano), ou seja, uma taxa
de 25 homicdios para cada 100 mil habitantes
(taxa similar mdia brasileira; MS, 2010j). Par
e Mato Grosso registraram as maiores taxas de
homicdios, respectivamente 39 e 31 casos para
cada 100 mil habitantes (MS, 2010m).
Belm e Manaus fguram entre as dez
cidades com maior nmero de casos de homic-
dios no Brasil. Somente em 2008 foram respec-
tivamente 734 e 614 homicdios (MS, 2010m).
No entanto, as taxas de homicdios desses mu-
nicpios no esto entre as mais altas da regio
(posio 46 e 108 no ranking regional). Trinta
e cinco por cento dos municpios amaznicos
apresentam uma taxa de homicdios superior
da cidade do Rio de Janeiro (19 homicdios
para cada 100 mil habitantes). Infelizmente, o
Brasil no apresenta metas nacionais especf-
cas para a reduo de homicdios.
43
Existe uma
campanha nacional permanente pelo desarma-
mento com o objetivo de diminuir a taxa de
homicdios no pas (MJ, 2010), porm uma
campanha voluntria.
Figura 38. Taxa de homicdios municipal na Amaznia em 2008 (MS, 2010m).
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
62
O
B
J
E
T
I
V
O
7
Degradao dos ecossistemas, poluio
do ar e das guas, emisso desenfreada de di-
xido de carbono (CO
2
) atmosfera, contamina-
o do solo e reduo da sua fertilidade, perda
da biodiversidade e exausto dos recursos pes-
queiros so alguns dos problemas ambientais
resultantes do sistema de produo e consumo
no planeta. A falta de gua afeta quase 20%
da populao mundial (ONU, 2010a). Por isso,
a Assemblia Geral da ONU declarou que o
acesso gua potvel e ao saneamento bsico
um direito humano essencial em 2010.
O meio de vida urbano e o padro de
consumo atual induzem ao pouco entendimen-
to sobre a verdadeira conexo entre o ser hu-
mano e a natureza. Para ilustrar essa importn-
cia aos tomadores de deciso e tentar inseri-la
no sistema econmico de mercado, criou-se o
termo Servio Ecossistmico benefcios di-
retos e indiretos que as pessoas recebem dos
objetivo 7.
Garantir a sustentabilidade ambiental
ecossistemas (MEA, 2005). Esses servios esto
divididos em quatro categorias: proviso (gua
doce, alimentos, fbras, madeira e outros bens),
regulao (do clima, das enchentes e secas, das
doenas, polinizao e outros), cultural (be-
nefcios recreativos, espirituais, educativos e
outros intangveis) e de suporte da vida (fotos-
sntese, formao de solos, produo primria
etc.) (MEA, 2005). Eles esto diretamente rela-
cionados ao bem-estar humano, j que afetam
as necessidades materiais bsicas, a segurana
e a paz, a sade, as relaes sociais e cultu-
rais. Infelizmente, nos ltimos cinquenta anos,
os ecossistemas mundiais e seus servios foram
degradados mais rapidamente do que em qual-
quer outro perodo da histria da humanidade.
Para avaliar esse ODM, utilizamos trs indica-
dores: (i) taxa de desmatamento; (ii) criao de
reas Protegidas; e (iii) acesso ao saneamento
bsico adequado.
CAI O DESMATAMENTO NA AMAZNIA
Em 2009, a rea forestal desmatada na
Amaznia foi de 7.464 quilmetros quadra-
dos, o que representou uma queda de 42% em
relao ao ano anterior. Em 2010, o desmata-
mento caiu novamente, apresentando seu n-
mero mais baixo nos ltimos 20 anos, 6.451
quilmetros quadrados. Isso confrma uma ten-
dncia de queda a partir de 2005 (Figura 39).
Porm, o desmatamento acumulado na regio
atingiu cerca de 18% em 2010 (Figura 40). Nos
ltimos dois anos, o Par registrou as maiores
taxas de desmatamento (Tabela 9). Antes disso,
o Mato Grosso era o lder de desmatamento na
regio desde 1992.
O desmatamento geralmente precedido
de queimadas e/ou explorao madeireira pre-
datria. Os focos de calor na Amaznia so mo-
nitorados anualmente pelo Inpe, e a curva anual
de focos de calor correlacionada a de desmata-
mento (Figura 39). Dados preliminares de 2010
apontam mais de 40 mil focos de calor at mea-
dos de novembro na Amaznia (Inpe, 2010b).
44
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
O
B
J
E
T
I
V
O
63
7
Figura 39. rea desmatada entre 1990 e 20010 e focos de calor entre 1999 e 2010 na Amaznia
(Inpe, 2010a; Inpe, 2010b).
45
Figura 40. Cobertura vegetal da Amaznia (Inpe, 2010a).
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
64
O
B
J
E
T
I
V
O
7
Tabela 9. rea desmatada nos Estados da Amaznia em 1990, 2000 e 2010 (Inpe, 2010a).
Estados
Taxa de desmatamento anual (km
2
/ano)
1990 2000 2010
AC 550 547 273
AM 520 612 474
AP 250 - -
MA 1100 1065 679
MT 4020 6369 828
PA 4890 6671 3.710
RO 1670 2465 427
RR 150 253 -
TO 580 244 60
Amaznia 13.730 18.226 6.451
Quadro 10. O fm do desmatamento na Amaznia
O desmatamento o principal problema ambiental do Brasil. Em 2007, nove institui-
es da Sociedade Civil Organizada propuseram um pacto para valorizar a foresta e zerar
o desmatamento at 2015 (Desmatamento Zero). Esse pacto apresentado em um docu-
mento que contm metas de reduo de desmatamento anual e sugestes de mecanismos
fnanceiros para compensar o fm do desmatamento (ISA et al., 2007). Em artigo da revista
Science, pesquisadores afrmam que possvel e economicamente vivel acabar com o des-
matamento (Nepstad et al., 2009). Para isso, eles sugerem que mecanismos de compensao
fnanceira, tal como iniciativa de REDD, devem injetar na economia da regio de 7 bilhes a
18 bilhes de dlares por ano at 2020. Isso permitir que os proprietrios rurais, assentados
de reforma agrria e povos tradicionais mantenham a foresta em p. Alm disso, esforos
de governana e fscalizao ambiental do governo brasileiro devem ser fortalecidos para
coibir atividades ilegais. Em 2008, o governo criou o Fundo Amaznia (Decreto 6.527/2008)
para captar doaes externas para investimentos em aes de preveno, monitoramento e
combate ao desmatamento, bem como de promoo da conservao e do uso sustentvel das
forestas no Bioma Amaznia (Brasil, 2008). Em 2009, durante a 15 Conferncia da ONU
sobre Mudana do Clima (COP-15 em Copenhague, Dinamarca), o governo brasileiro se
comprometeu com uma meta voluntria de reduo do desmatamento da Amaznia em 80%,
at 2020, em comparao ao desmate de 2005 (19 mil quilmetros quadrados; Inpe, 2006).
Esse compromisso est atrelado proposta brasileira de reduo voluntria de emisses de
GEE (Brasil, 2010).
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
O
B
J
E
T
I
V
O
65
7
Quadro 11. Emisses de CO
2
na Amaznia
O Brasil est entre os maiores emissores de dixido de carbono (CO
2
) do planeta, prin-
cipal GEE que causa o aquecimento global. Segundo o MCT (2010), as emisses brasileiras
aumentaram cerca de 60% entre 1990 e 2005, passando de 1,4 para 2,2 gigatoneladas de
CO
2
. O grande vilo das emisses nacionais o desmatamento, j que o Brasil possui uma
matriz energtica considerada razoavelmente limpa (fundamentada em hidreltricas). Esti-
ma-se que a mudana no uso da terra e forestas corresponda a 61% das emisses brasileiras
e que as emisses lquidas deste setor somaram 1,3 gigatonelada de CO
2
em 2005, sendo o
bioma Amaznia o principal responsvel (65%) (MCT, 2010).
Em 2009, durante a COP-15, o governo brasileiro se comprometeu a diminuir as emis-
ses brasileiras de GEE entre 36,1% a 38,9% at 2020 (Brasil, 2010b). Para isso, diversas
metas e compromissos foram estabelecidos para os diferentes setores (Brasil, 2010c). Entre as
metas est a reduo de 80% no desmatamento da Amaznia.
Quadro 12. REDD+
por Brenda Brito e Moira Adams (Imazon)
Desmatamento e degradao forestal contribuem entre 17% e 20% das emisses glo-
bais de gases do efeito estufa (GEE). Porm, a Conveno Quadro das Naes Unidas de Mu-
danas do Clima (principal tratado internacional para reduo mundial de emisses de GEE)
no possui um mecanismo de incentivo para reduzir esse tipo de emisses, principalmente
em pases em desenvolvimento com grande rea forestal, como o Brasil.
nesse contexto que surgiram as discusses sobre REDD, atualmente chamado de
REDD+ (que inclui tambm iniciativas para conservao forestal, manejo sustentvel e au-
mento de estoques de carbono forestal). Esse assunto comeou a ser discutido com mais
intensidade em 2005, mas at 2009 no existia uma deciso formal sobre como REDD+ seria
operacionalizado, que pases poderiam receber incentivos, como seria a forma de acesso e
como os resultados seriam verifcados.
Embora muitos dos aspectos operacionais ainda estejam em debate, iniciativas de
REDD+ j so observadas no mercado voluntrio de crditos de carbono, inclusive no Brasil.
Este mercado no envolve metas obrigatrias de redues e geralmente procurado por em-
presas interessadas em compensar suas emisses de GEE. Em 2009, j havia pelo menos 13
projetos de REDD+ em elaborao ou j em implantao na Amaznia brasileira (Cenamo
et al., 2010).
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
66
O
B
J
E
T
I
V
O
7
REAS PROTEGIDAS AUMENTAM, MAS CRESCEM
TAMBM AS AMEAAS
No Brasil, as reas Protegidas so dividi-
das em UCs e TIs.
46
As UCs esto classifcadas
como de proteo integral (Parnas, Rebio, Esec
etc.) e de uso sustentvel (Flonas, Resex, RDS
etc.). Embora existam evidncias de desmata-
mento ilegal e explorao madeireira em reas
Protegidas da Amaznia (Ribeiro et al. 2005;
Nepstad et al., 2006; Monteiro et al., 2010;
Hayashi et al., 2010), ainda assim as elas repre-
sentam a estratgia mais efciente para conser-
var a foresta amaznica.
A proporo de reas Protegidas aumen-
tou na Amaznia nos ltimos anos, passando
de 8,5%, em 1990, para cerca de 44% (2,2
milhes de quilmetros quadrados) em 2010
47
(Figura 41 e 42). Desse total, 21,7% so TIs e
Figura 41. reas Protegidas na Amaznia (Imazon e ISA, no prelo).
22,4% so UCs sendo 8% de proteo integral
e 14,2% de uso sustentvel. Alm disso, h
0,5% de reas militares (Figura 41).
Amap o Estado mais protegido da
Amaznia, com 70% de seu territrio prote-
gido (Tabela 10). Embora muitas novas reas
Protegidas tenham sido criadas nos ltimos
anos, existem iniciativas formais para reduzir
algumas delas em tamanho ou em grau de pro-
teo. At julho de 2010, 29 reas haviam sido
reduzidas ou extintas, isto , retirou-se a prote-
o legal de 49.506 quilmetros quadrados
e
outras 18 (86.538 quilmetros quadrados) es-
tavam sendo alvo de aes judiciais e projetos
legislativos para reduo ou extino (Araujo e
Barreto, 2010).
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
O
B
J
E
T
I
V
O
67
7
Figura 42. Criao de reas Protegidas (exceto APAs) na Amaznia entre 1990 e junho de 2010
(adaptado de Imazon e ISA, no prelo).
Tabela 10. Percentual de reas Protegidas nos Estados da Amaznia at junho de 2010
(Imazon e ISA, no prelo)
1
.
Estados
Unidade de Conservao
Terras Indgenas
(%)
Total (%)
Proteo
integral(%)
Uso sustentvel
2
(%)
AC 10,6 23,6 15,8 50,0
AM 7,8 15,8 27,3 50,9
AP 33,3 28,8 8,3 70,4
MA 5,4 12,0 8,7 26,1
MT 3,2 1,3 15,2 19,7
PA 10,1 22,2 22,7 55,0
RO 9,3 12,4 21,0 42,7
RR 4,7 7,3 46,3 58,3
TO 3,7 8,5 9,2 21,4
Amaznia Legal 8,0 14,2 21,7 43,9
1
Inclui as UCs e TIs identifcadas, declaradas e homologadas, atualizadas at julho de 2010, descontando as reas de
sobreposio;
2
Inclui APAs. Cerca de 3,7% das UCs de uso sustentvel so APAs na Amaznia.
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
68
O
B
J
E
T
I
V
O
7
Quadro 13. Polticas pblicas e desenvolvimento sustentvel
A primeira meta do ODM 7 sugere a incorporao dos princpios de desenvolvimento
sustentvel nas polticas pblicas e leis. Muitos avanos ocorreram desde 1990 no estabele-
cimento de leis e polticas ambientais no Brasil relevantes para a Amaznia. Destacamos a
Lei de Crimes Ambientais (9.605/98), o estabelecimento do Sistema Nacional de Unidades
de Conservao Snuc (9.985/2000) e a Lei de Gesto de Florestas Pblicas (11.284/06). Em
2001, foram feitas mudanas no Cdigo Florestal Brasileiro (Lei 4.771/65.) aumentando a rea
de Reserva Legal em imveis rurais de 50% para 80% (MP 2.166-67).
Alm disso, a partir de 2007 foram criadas polticas pblicas com o objetivo de frear
o desmatamento da Amaznia. A primeira delas foi o decreto 6.321 (2007) que tem como
princpio compartilhar a responsabilizao do desmatamento com os municpios e cria a lista
dos municpios crticos de desmatamento. Desde ento, algumas instituies criaram proce-
dimentos para: barrar concesso de crdito para produtores rurais desses municpios (Res.
3.545/2008, Banco Central) e restringir a compra de gado de reas desmatadas ilegalmente
por varejistas (IN 1/2008, MMA).
No entanto, os ltimos dois anos tambm foram marcados por srios retrocessos:
A Lei Federal 11.952/2009 que dispe sobre a regularizao fundiria das ocupa-
es incidentes em terras situadas em reas da Unio na Amaznia deixa algumas la-
cunas que podem favorecer ocupaes ilegais e agravar problemas ambientais como
o desmatamento (Ver mais detalhes em Brito e Barreto, 2010).
Projeto de alterao do Cdigo Florestal Brasileiro (Lei 4.771/65) proposta pelo De-
putado Aldo Rebelo e aprovada na Comisso Especial da Cmara dos Deputados
representa uma ameaa foresta e biodiversidade brasileira, j que prev uma
reduo das reas de Reserva Legal e das APPs, como as matas ciliares e de alta de-
clividade.
SANEAMENTO CONTINUA PRECRIO
O acesso gua potvel e ao saneamen-
to bsico foi declarado como um direito huma-
no essencial pela Assemblia Geral da ONU
em 2010. Afnal, o direito gua potvel e ao
saneamento bsico est intrinsecamente ligado
aos direitos vida, sade, alimentao e
habitao. A precariedade nos servios de
saneamento (abastecimento de gua, esgota-
mento sanitrio, coleta e destino fnal dos res-
duos slidos) representa um risco para a sade
da populao, sobretudo para as pessoas mais
pobres. Ampliar o acesso a esse servio fun-
damental para melhorar a qualidade de vida.
Alm disso, investimentos em saneamento re-
duzem os gastos pblicos com sade (IBGE,
2010e).
O acesso da populao amaznica rede
de abastecimento de gua manteve-se estvel em
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
O
B
J
E
T
I
V
O
69
7
66% entre 2001 e 2009 (Tabela 11). Em 2009,
34% da populao no dispunha de gua pro-
veniente de rede geral de abastecimento (IBGE,
2010f). A cobertura de esgoto aumentou ligeira-
mente na regio entre 2001 e 2009, passando de
48% para apenas 51% dos moradores de domi-
clios particulares com coleta de esgoto conside-
rada adequada, ou seja, ligada rede ou fossa
sptica. Em 2009, apenas 11% dos domiclios
(ou 10% da populao) estavam conectados a
uma rede coletora de esgoto na regio (ver Qua-
dro 14: O paradoxo do saneamento). De fato, em
81% dos municpios amaznicos no existia rede
coletora de esgoto em 2008 (IBGE, 2010g).
Finalmente, a populao urbana vivendo
em domiclios com coleta de lixo aumentou em
4% entre 2001 e 2009 (IBGE, 2010h). Em 2009,
81% da populao da regio contava com esse
servio. Contudo, o manejo de lixo na regio
no era adequado. Apenas 68 municpios (9%
do total) tinham coleta seletiva de lixo. A maio-
ria do lixo da regio (58%) era depositada em
lixes, enquanto 40% eram encaminhados para
aterros sanitrios (IBGE, 2010h).
Tabela 11. Percentual de moradores em domiclios particulares com rede geral de abastecimento de gua
e coleta de esgoto (ligado rede geral e fossa sptica) na Amaznia em 2001 e 2009
(IBGE,2010f; IBGE, 2010g).
Estados
Moradores em domiclios particulares (%)
Ligada rede
geral de gua
1
Ligada rede
coletora de esgoto
Fossas spticas Outros
2
2001 2009 2001 2009 2001 2009 2001 2009
AC 56 55 17 21 30 34 53 45
AP 73 69 1 1 55 58 44 41
AM 76 72 6 18 46 43 47 39
MA 54 66 8 10 27 47 65 44
MT 62 75 7 11 31 18 62 71
PA 56 51 5 2 48 57 46 41
RO 42 39 2 4 56 23 42 73
RR 99 87 9 13 75 78 16 9
TO 74 79 2 12 11 16 87 72
Amaznia
Legal
66 66 6 10 42 41 51 49
Brasil 80 83 43 50 21 20 36 30
1
Inclui domiclios com canalizao interna e externa;
2
Inclui fossas spticas rudimentares e outras formas de escoa-
douro: vala, direto para o rio, lago ou mar e outras.
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
70
O
B
J
E
T
I
V
O
7
Quadro 14. O paradoxo do saneamento
O saneamento ambiental fundamental para garantir qualidade de vida populao.
Apesar da crescente urbanizao das cidades amaznicas, o saneamento continua no sendo
prioridade poltica na regio. Mesmo as cidades que apresentam alto desenvolvimento econ-
mico no tm boas condies de saneamento, principalmente em relao ao servio de rede
coletora de esgoto. Em Belm, por exemplo, 73% dos domiclios no esto conectados a uma
rede coletora (IBGE, 2010c) e o esgoto pode ser observado a cu aberto em vrias regies da
cidade. No Estado de Rondnia, palco de grandes investimentos em infraestrutura nos ltimos
anos, somente 4% dos domiclios esto ligados a uma rede coletora de esgoto. No Mato Gros-
so, Estado com menos pobreza na regio, 67% dos esgotos vo para fossas rudimentares. Em
geral, o esgoto da regio amaznica vai para fossas rudimentares, que podem contaminar os
lenis freticos, ou so despejados a cu aberto, oferecendo grandes riscos populao.
Investimentos em grandes projetos econmicos na regio amaznica implicaro na
atrao de imigrantes e urbanizao. Investir em saneamento gera benefcios econmicos de
at 34 vezes em sade pblica (OMS por meio do Portal ODM, 2009). No entanto, h muitas
barreiras para ampliar esses servios. Segundo o WSSCC (2005), as principais barreiras so:
(i) ausncia de vontade poltica para investir em saneamento; (ii) menor prestgio e reconhe-
cimento da sociedade; (iii) fraca poltica ambiental dos rgos governamentais; e (iv) pouca
cooperao institucional. urgente que esse tema entre na agenda poltica da regio. Obras
de infraestrutura, sem investimentos em saneamento, so inefcazes para aumentar a qualida-
de de vida da populao.
Figura 43. Coleta de esgoto (% da populao) na Amaznia entre 2001 e 2009 (IBGE, 2010g).
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
O
B
J
E
T
I
V
O
71
7
OBJETIVO 7 GARANTIR A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
Meta 12: Incorporar os princpios de desenvolvimento sustentvel nas polticas pblicas e programas nacionais e
inverter a perda de recursos ambientais.
Avaliao: Os ltimos anos foram marcados por avanos e retrocessos nas polticas pblicas para promover o
desenvolvimento sustentvel na Amaznia. A queda do desmatamento nos ltimos anos uma tima notcia,
mas a perda de foresta ainda grande e prticas ilegais persistem na regio. Alm disso, reverter a perda de re-
cursos naturais implica na restaurao de forestas e essa prtica ainda incipiente na Amaznia. Outra boa no-
tcia que 44% da regio amaznica est legalmente protegida, contudo, muitas dessas reas esto ameaadas
formalmente pelo governo que tenta reduzir seu tamanho ou grau de proteo por meio de prticas ilcitas em
seu interior como ocupaes ilegais e desmatamento. O Brasil aprovou medidas de combate ao desmatamento
e assumiu compromissos internacionais de reduo do desmatamento at 2020. fundamental monitorar se de
fato essas aes sero implantadas e se a meta ser atingida.
?
Meta 13: Reduzir a perda de biodiversidade, alcanando at 2010, uma reduo signifcativa nas taxas de perda.
Avaliao: Meta no avaliada por indisponibilidade de dados. Essa meta corresponde ao objetivo principal
da Conveno sobre a Diversidade Biolgica (CDB) assinada por 175 pases, inclusive o Brasil, em 1992. Em
2010, essa meta foi ofcialmente considerada como no cumprida mundialmente e novas metas foram estabe-
lecidas para os prximos 10 anos (CDB, 2010). Na Amaznia, o Par foi o nico Estado a elaborar uma lista de
espcies da fora e da fauna ameaadas de extino como previsto pela CDB. A principal estratgia para garantir
a conservao da biodiversidade criar reas Protegidas. Em seguida, fundamental investir na implantao,
manejo e controle dessas reas. Na Amaznia, muitas reas foram criadas nos ltimos anos, mas os recursos
fnanceiros e humanos so insufcientes, o que compromete seu papel na conservao da biodiversidade.
Meta 14: Reduzir pela metade, at 2015, a proporo da populao sem acesso permanente e sustentvel gua
potvel e ao saneamento bsico.
Meta brasileira para 2015: 85% da populao com acesso a abastecimento de gua adequado e 75% com
instalaes adequadas de esgoto.
48
Amaznia em 2009: 66% da populao com acesso a abastecimento de gua adequado por rede e 51% com
instalaes adequadas de esgoto (rede coletora ou fossa sptica).
Avaliao: O acesso da populao gua na Amaznia melhorou. Porm, o acesso da populao ao esgota-
mento sanitrio manteve-se praticamente estvel nos ltimos anos. Assim, essa meta no ser atingida.
?
Meta 15: At 2020, ter alcanado melhoria signifcativa na vida de pelo menos 100 milhes de habitantes de
submoradias.
Considerao sobre a meta: Essa meta mundial e no h uma meta nacional especfca. No Brasil so consi-
derados domiclios precrios aqueles que no possuem saneamento bsico e banheiro; cujo teto e paredes
so feitos com materiais no permanentes; e que apresentam adensamento excessivo e irregularidade fundiria
urbana (terrenos construdos em propriedades de terceiros, invases etc.). De acordo com IBGE (Pnad, 2010),
34,3% da populao brasileira vivia nessas condies em 2008. Embora dados quantitativos no existam para
os Estados, h evidencias que o problema de habitao precria predomina na maioria das grandes cidades
amaznicas.
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
72
O
B
J
E
T
I
V
O
8
O Objetivo do Milnio 8 prev o estabele-
cimento de uma parceria mundial para o desen-
volvimento. Esse objetivo foi estabelecido para
defnir compromissos de ajuda dos pases mais
desenvolvidos com aqueles mais pobres, prin-
cipalmente reduzir a desigualdade nas reas do
comrcio e de fnanas internacionais, uma vez
que existem diversas barreiras a serem enfrenta-
das pelos pases em desenvolvimento como o
protecionismo comercial e a instabilidade eco-
nmica. A avaliao das metas especfcas pro-
postas pela ONU refere-se ao Brasil e por isso
no foi abordada no mbito regional (maiores
detalhes: Ipea 2004, 2005)
49
. No entanto, algu-
mas iniciativas internacionais importantes acon-
tecem na Amaznia e importante registr-las:
Tratados Internacionais: O Tratado de
Cooperao Amaznica (TCA) assinado 1978
por Bolvia, Brasil, Colmbia, Equador, Guia-
na, Peru, Suriname e Venezuela tem o objetivo
de promover aes conjuntas para o desenvol-
vimento sustentvel da Bacia Amaznica, com-
prometendo-se com a preservao do meio am-
biente e o uso racional dos recursos naturais.
Em 1995 foi criada a Organizao do Tratado
de Cooperao Amaznica (OTCA) para forta-
lecer e implantar os objetivos do Tratado.
Iniciativas Internacionais de Infraes-
trutura: A Iniciativa para a Integrao da Infra-
estrutura Regional Sul-Americana (IIRSA) tem
como objetivo promover o desenvolvimento de
uma rede de infraestrutura regional, buscando
objetivo 8.
Estabelecer parceria mundial para
o desenvolvimento
a integrao fsica dos pases sul-americanos.
Embora para os governos a IIRSA represente
uma oportunidade de integrao econmica e
de desenvolvimento, especialistas apontam a
iniciativa como uma grande ameaa foresta
amaznica (Kileen, 2007).
Ajuda Internacional: Diversas agn-
cias internacionais de cooperao ao desen-
volvimento (Usaid, GTZ, Unio Europia,
Dfd etc.), bancos multilaterais (Banco Mun-
dial, BID etc.), fundaes (Gordon and Betty
Moore, Avina, Ford, Packard, Skoll etc.) e ou-
tros doadores atuam na Amaznia fnanciando
programas e projetos governamentais e no
governamentais.
Redes Internacionais: Diversas redes
formadas por instituies dos diferentes pases
se confguraram nos ltimos anos para promo-
ver a conservao e uso sustentvel dos recur-
sos naturais no mbito da Pan-Amaznia num
esforo colaborativo. Entre elas esto: Rede
Amaznica de Informao Socioambiental Ge-
orreferenciada (Raisg), Articulao Regional
Amaznica (ARA) e Iniciativa Amaznica (IA).
Organizaes Internacionais: Diversas
organizaes internacionais atuam na Amaz-
nia para apoiar a promoo da conservao das
forestas e outros temas ambientais, entre elas
esto: The Nature Conservancy, Conservao
Internacional, WWF e Greenpeace.
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
73
Os Objetivos do Milnio tm obtido algu-
mas melhoras na Amaznia, mas a regio con-
tinua aqum da mdia nacional para a maioria
dos indicadores avaliados. Ao comparar a evo-
luo histrica dos indicadores avaliados neste
estudo, a maioria melhorou entre 1990 e 2009
(ou data mais recente) nos Estados da Amaz-
nia. Entretanto, como mostramos no decorrer
do estudo, essa melhoria ainda insatisfatria
na maioria dos casos. Das 15 metas avaliadas,
apenas uma foi alcanada na regio e outras
duas podero ser atingidas at o prazo de 2015
(Quadro 15). Alguns Estados apresentam me-
lhor situao que outros (Figura 44).
A Amaznia conhecida internacional-
mente pela sua imensa foresta, biodiversidade
e recursos naturais. Essa riqueza vem sendo uti-
lizada de forma predatria e ao mesmo tempo
persistem na regio pobreza, desigualdade e
problemas graves de sade, como malria e tu-
berculose. As mulheres tm pouca participao
na poltica e so desfavorecidas no mercado de
trabalho. Os bitos maternos aumentaram e o
acesso da populao ao saneamento bsico
insufciente. Alm disso, a regio tem altos n-
dices de violncia. H ampla disparidade entre
as zonas urbanas e rurais e os povos indgenas e
demais populaes tradicionais enfrentam gran-
des desafos para assegurarem seu bem-estar.
CONCLUSO
As boas notcias so o aumento no
acesso educao (embora ainda haja de-
safos quanto qualidade e a disparidade
urbano/rural), a igualdade das mulheres na
educao e a reduo da mortalidade infan-
til (embora existam fortes evidncias de sub-
registros nas estatsticas ofciais). Alm disso,
o desmatamento caiu e o nmero de reas
Protegidas aumentou. O novo governo ter
grandes desafos para cumprir os compromis-
sos internacionais assumidos pelo Brasil e
manter o desmatamento em queda at atingir
a o desmatamento zero. Alm disso, as ame-
aas (formais e informais) s reas Protegidas
devem ser combatidas.
Os Objetivos do Milnio tm o mrito de
estabelecer as bases para uma discusso sobre
os benefcios esperados de um desenvolvimen-
to sustentvel para a Amaznia. Porm, ne-
cessrio ampliar a divulgao e o debate sobre
esses objetivos na regio que at agora tem sido
tratado de forma perifrica. Esperamos que esse
relatrio seja utilizado como uma bssola para
orientar a gesto e as polticas pblicas para a
regio. Faltam apenas cinco anos para o prazo
estabelecido pela ONU para o cumprimento
das metas e ainda resta muito trabalho para
atingi-las.
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
74
Quadro 15. Avaliao dos objetivos e das Metas de Desenvolvimento do Milnio.
Objetivo 1: Erradicar a pobreza extrema e a fome
Meta 1: Reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a proporo da populao em extrema pobreza.
A meta no ser atingida. Embora a pobreza tenha diminudo, ainda 17% da populao vivia com menos de do
salrio mnimo em 2009
Meta 2: Garantir emprego pleno e produtivo e boas condies de trabalho para todos.
A meta no ser atingida, pois o trabalho infantil e o trabalho em condies anlogas s de escravido ainda no
foram erradicados. Alm disso, 60% dos trabalhadores da regio atuam no mercado informal sem os direitos sociais
assegurados.
Meta 3: Reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a proporo da populao que sofre fome.
?
A meta no foi avaliada devido indisponibilidade de dados histricos. Em 2009, 47% da populao amaznica
declarou nem sempre ter alimentao sufciente.
Objetivo 2: Atingir o ensino bsico universal
Meta 4: Garantir, at 2015, que as crianas de todos os pases, de ambos os sexos, terminem um
ciclo completo de estudo.
A meta de 100% de crianas frequentando o ensino fundamental pode ser atingida, mas se a taxa atual de adeso de
jovens frequentando o ensino mdio for mantida, a meta de 100% s ser atingida em 2021. Mas, essencial eliminar a
disparidade entre as zonas urbanas e rurais, combater o analfabetismo funcional e melhorar a qualidade de ensino na regio.
Objetivo 3: Promover a igualdade entre os gneros e a autonomia das mulheres
Meta 5: Eliminar as disparidades entre os sexos no ensino fundamental e mdio.
A meta foi atingida, mas preciso melhorias na participao de mulheres na poltica e num mercado de trabalho mais
justo.
Objetivo 4: Reduzir a mortalidade infantil
Meta 6: Reduzir em dois teros, entre 1990 e 2015, a mortalidade de crianas at 5 anos.
A meta poder ser atingida. No entanto, estimativas expressivas de sub-registro de bitos infantis representam um
problema grave e podem estar distorcendo os resultados.
Objetivo 5: Melhorar a sade materna
Meta 7: Reduzir em 75%, entre 1990 e 2015, a taxa de mortalidade materna.
Essa meta no ser atingida. Nenhuma melhoria foi registrada na regio.
Meta 8: Garantir acesso universal sade reprodutiva.
Essa meta ser difcilmente atingida. O acesso aumentou, mas ainda no universal. Existe grande disparidade entre
populaes urbanas e rurais.
Objetivo 6: Combater Aids, malria e outras doenas
Meta 9: At 2015, ter detido e comeado a reduzir a propagao do HIV/Aids.
Essa meta no ser atingida. A taxa da doena tem aumentado na regio.
Meta 10: Garantir, at 2010, acesso universal a tratamento para HIV/Aids para todos que necessitem.
?
A meta no foi avaliada pela indisponibilidade de dados regionais. No entanto, importante destacar que o Brasil foi
pioneiro em garantir o acesso gratuito universal terapia antirretroviral na rede pblica de sade.
Meta 11: At 2015, ter detido e comeado a reduzir a incidncia de malria e de outras doenas graves.
Essa meta no ser atingida. Embora a malria tenha diminudo, ainda so registrados anualmente mais de 1,2 mil
casos de malria para cada 100 mil habitantes. Alm disso, persistem altas taxas de incidncia de tuberculose (48 casos
para cada 100 mil habitantes), leishmaniose (74) e dengue (347).
Objetivo 7: Garantir a sustentabilidade ambiental
Meta 12: Incorporar os princpios de desenvolvimento sustentvel nas polticas pblicas e programas nacionais e inverter a perda de
recursos ambientais.
A meta poder ser atingida. Nos ltimos anos houve queda expressiva no desmatamento e aumento de reas
legalmente protegidas (44% da regio). No entanto, prticas ilegais ainda persistem e devem continuar sendo
combatidas na regio.
Meta 13: Reduzir a perda de biodiversidade, alcanando at 2010, uma reduo signifcativa nas taxas de perda.
?
A meta no foi avaliada pela indisponibilidade de dados. Essa meta corresponde ao objetivo principal da Conveno
sobre a Diversidade Biolgica (CDB). Esse ano, essa meta foi considerada como no cumprida mundialmente (CDB,
2010) e ser substituda.
Meta 14: Reduzir pela metade, at 2015, a proporo da populao sem acesso permanente e sustentvel gua potvel e ao
saneamento bsico.
Essa meta no ser atingida. O acesso da populao ao saneamento bsico insufciente na Amaznia.
Meta 15: At 2020, ter alcanado melhoria signifcativa na vida de pelo menos 100 milhes de habitantes de submoradias.
?
A meta no foi avaliada pela indisponibilidade de dados. De acordo com IBGE (Pnad, 2010), 34,3% da populao
brasileira vivia nessas condies em 2008.
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
75
Figura 44. Situao das Metas do Milnio avaliadas nos Estados da Amaznia.
50
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
76
Sobre... Onde...
Objetivos do Milnio
ONU
www.un.org/millenniumgoals/
www.pnud.org.br
Ipea www.ipea.gov.br
Iniciativas
Nacionais
www.portalodm.com.br/
www.nospodemos.org.br/
Pobreza ONU www.undp-povertycentre.org
Educao
MEC
www.inep.gov.br
http://portal.mec.gov.br
Unesco www.unesco.org
Sade
Aids www.aids.org.br/
MS
http://portal.saude.gov.br
www.aids.gov.br
OMS www.who.int/
Amaznia
e
Meio Ambiente
Amaznia www.amazonia.org.br
Greenpeace www.greenpeace.org/brasil/
Ibama www.ibama.gov.br
Imazon www.imazon.org.br
Inpa www.inpa.gov.br
Inpe www.inpe.br
Ipam www.ipam.org.br
ISA www.socioambiental.org
MMA www.mma.gov.br
MPEG www.museu-goeldi.br
Naea www.ufpa.br/naea
Raisg http://raisg.socioambiental.org/
OTCA http://www.otca.org.br/
Dados
IBGE
www.ibge.gov.br
www.sidra.ibge.gov.br
Ipea www.ipeadata.gov.br
MS
www.saude.gov.br/svs
www.datasus.gov.br
www.ripsa.org.br/
ONU
www.pnud.org.br/atlas
http://unstats.un.org
WB http://devdata.worldbank.org/atlas-mdg/
PARA SABER MAIS
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
77
E
ste estudo foi fnanciado pela Fundao Avi-
na, Fundao Skoll e Fundo Vale. Agradece-
mos colaborao de Leandro Mahalem de
Lima, Fany Ricardo e Beto Ricardo do Instituto Socio-
ambiental na seo especial sobre os povos indgenas e
de Brenda Brito e Moira Adams (Imazon) no quadro so-
bre REDD. Mariana Vedoveto, Rodney Salomo e Jayne
Chiacchio apoiaram com informaes sobre reas Pro-
tegidas e polticas ambientais. Somos gratos a todos os
revisores deste estudo e suas contribuies verso pre-
liminar, em especial a Rodrigo Bandeira, Tasso Azevedo,
Brenda Brito, Paula Ellinger e Elis Arajo. Agradecemos
equipe administrativa do Imazon pelo apoio adminis-
trativo durante a realizao deste trabalho.
AGRADECIMENTOS
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
78
BIBLIOGRAFIA
Amigos da Terra Brasil. 2010. Governo criar Fora Nacional de Sade para enviar mdicos para
a regio Norte. Disponvel em <http://www.amazonia.org.br/noticias/noticia.cfm?id=366731>.
Acesso em 15 de setembro 2010.
Arajo, E. & Barreto, P. 2010. Ameaas formais contra as reas Protegidas na Amaznia. O Estado
da Amaznia 16. Belm: Imazon: 6 p.
Brasil. 2008. Dispe sobre o estabelecimento do Fundo Amaznia pelo Banco Nacional de De-
senvolvimento Econmico e Social BNDES. Braslia: Presidncia da Repblica, Casa Civil. Dis-
ponvel em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6527.htm>.
Acesso em 20 de setembro 2010.
Brasil. 2010a. Objetivos de Desenvolvimento do Milnio. Relatrio Nacional de Acompanha-
mento. Presidncia da Republica. Braslia: Ipea. 182 p.
Brasil. 2010b. Carta de compromisso de reduo das emisses na COP-15. Braslia: Ministrio das
Relaes Exteriores.
Brasil. 2010c. Lei n 12.187/2009 institui a Poltica Nacional sobre Mudana do Clima - PNMC e
d outras providncias. Braslia: Presidncia da Repblica Casa Civil. Disponvel em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12187.htm>. Acesso em 18
de setembro 2010.
Brito, B. & Barreto, P. 2010. Impactos das novas leis fundirias na de direitos de propriedade no
Par. O Estado da Amaznia 15. Belm: Imazon. 6 p. Disponvel em <http://imazon.org.br/no-
vo2008/arquivosdb/oea_n15.pdf>. Acesso em 18 de agosto 2010.
Celentano, D. & Verssimo, A. 2007a. A Amaznia e os Objetivos do Milnio. O Estado da
Amaznia: Indicadores 1. Belm: Imazon. 47 p. Disponvel em: <http://www.imazon.org.br/
novo2008/publicacoes_ler.php?idpub=216>. Acesso em: 26 de junho 2010.
Celentano, D. & Verssimo, A. 2007b. O avano da fronteira na Amaznia: do boom ao colapso.
O Estado da Amaznia: Indicadores 2. Belm: Imazon. 44 p. Disponvel em <http://www.ima-
zon.org.br/novo2008/publicacoes_ler.php?idpub=217>. Acesso em 20 de junho 2010.
Cenamo, M.; Pavan, M.; Barros, A.C. & Carvalho, F. 2010. Guia sobre projetos de REDD+ na
Amrica Latina. Manaus: The Nature Conservancy e Idesam. Disponvel em: <http://www.clima-
te-standards.org>. Acesso em: 7 de agosto 2010.
Cimi. Conselho Indigenista Missionrio. 2009. Violncia contra os povos indgenas no Brasil:
Relatrio 2009. Braslia: Cimi e CNBB.
Cimi. Conselho Indigenista Missionrio. 2010. Relatrios de violncia contra povos indgenas.
Disponvel em <http://www.cimi.org.br>. Acesso em 14 de agosto 2010.
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
79
CDB. Convention on Biological Diversity. 2010. Statement by Mr. Ahmed Djoghlaf - Executive
Secretary of the CBD. London, UK. Disponvel em <http://www.cbd.int/doc/speech/2010/sp-
2010-01-18-london-en.pdf>. Acesso em: 24 de agosto 2010.
CPT. Comisso Pastoral da Terra. 2010. Caderno de confitos. Disponvel em <http://www.cptna-
cional.org.br/index.php/downloads/viewcategory/4>. Acesso em 14 de agosto 2010.
Firjan. Federao das Indstrias do Estado do Rio de Janeiro. 2006. ndice Firjan de Desenvol-
vimento Municipal. Disponvel em <http://www.frjan.org.br>. Acesso em 10 de setembro
2010.
Firjan. Federao das Indstrias do Estado do Rio de Janeiro. 2008. ndice Firjan de Desenvolvi-
mento Municipal: Nota Metodolgica. Disponvel em <http://www.frjan.org.br>. Acesso em
15 de setembro 2010.
Funasa. Fundao Nacional de Sade. 2008. Relatrio anual de atividades de ateno integral
Sade Indgena 2007. Braslia: Funasa.
Grupioni, L. 2008. Olhar longe porque o futuro longe: cultura, escola e professores indgenas
no Brasil. So Paulo: FFLCH-USP. Tese de doutorado. 237 p.
Hayashi, S.; Souza Jr., C.; Sales, M. & Verssimo, A. 2010. Boletim Transparncia Florestal. Julho
de 2010. Belm: Imazon. 17 p.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografa e Estatstica. 2002. rea territorial ofcial. Disponvel em
<http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/principal.shtm>. Acesso em 15 de
maio 2010.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografa e Estatstica. 2005. Taxa de analfabetismo funcional das
pessoas de 15 anos ou mais de idade, por sexo em 2004. Disponvel em <http://www.ibge.gov.
br>. Acesso em 11 de agosto 2010.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografa e Estatstica. 2008a. IBGE Cidades: nmero de municpios
por Unidade da Federao. Disponvel em <http://ibge.gov.br/cidadesat>. Acesso em 18 de
maio 2010.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografa e Estatstica. 2008b. Sntese de indicadores sociais: uma
anlise das condies de vida da populao brasileira. Estudos e Pesquisa: Informaes Demogr-
fcas e Socioeconmicas 23. Rio de Janeiro: IBGE. 280 p.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografa e Estatstica. 2009a. Percentual da populao residente
urbana. Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios (Pnad). Disponvel em <http://www.si-
dra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?z=pnad&o=3&i=P&c=261>. Acesso em 13 de agosto
2010.
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
80
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografa e Estatstica. 2009b. Pessoas de 10 Anos ou mais de idade,
economicamente ativas na semana de referncia. Disponvel em < http://www.sidra.ibge.gov.
br>. Acesso em 13 de agosto 2010.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografa e Estatstica. 2010a. Dados do censo 2010 publicados no
Dirio Ofcial da Unio do dia 04/11/2010. Disponvel em <http://www.censo2010.ibge.gov.
br/dados_divulgados/index.php>. Acesso em 30 de novembro 2010.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografa e Estatstica. 2010b. Dados sobre o Produto Interno Bruto
brasileiro para o ano 2008. PIB a preos correntes. Disponvel em <http://ibge.gov.br/home/
presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1756&id_pagina=1>. Acesso em 19 de
novembro 2010.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografa e Estatstica. 2010c. Pesquisa Nacional por Amostra de
Domiclios (Pnad). Sntese de Indicadores Sociais 2009. Disponvel em: ftp://ftp.ibge.gov.br/Indi-
cadores_Sociais Acesso em 12 de setembro 2010.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografa e Estatstica. 2010d. Pesquisa de Oramentos Familiares
(POF) 2008-2009. Disponvel em <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condica-
odevida/pof/2008_2009/POFpublicacao.pdf>. Acesso em 17 de setembro 2010.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografa e Estatstica. 2010e. Indicadores de Desenvolvimento Sus-
tentvel Brasil (IDS). 443 p. Disponvel em <http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/recur-
sosnaturais/ids/ids2010.pdf>. Acesso em 12 de setembro 2010.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografa e Estatstica. 2010f. Sidra: Domiclios particulares perma-
nentes e moradores em domiclios particulares permanentes, por classes de rendimento mensal
domiciliar, situao do domiclio e abastecimento de gua. Disponvel em <http://www.sidra.
ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?z=pnad&o=3&i=P&c=1955>. Acesso em 22 de novembro
2010.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografa e Estatstica. 2010g. Sidra: Domiclios particulares perma-
nentes e moradores em domiclios particulares permanentes, por classes de rendimento mensal
domiciliar, situao do domiclio e esgotamento sanitrio. Disponvel em <http://www.sidra.
ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?z=pnad&o=3&i=P&c=1956>. Acesso em 22 de novembro
2010.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografa e Estatstica. 2010h. Sidra: Domiclios particulares perma-
nentes e moradores em domiclios particulares permanentes, por classes de rendimento mensal
domiciliar, situao do domiclio e destino do lixo. Disponvel em <http://www.sidra.ibge.gov.
br/bda/tabela/listabl.asp?z=pnad&o=3&i=P&c=1958>. Acesso em 22 de novembro 2010.
IDS-SSL-Cebrap. 2009. Diagnstico situacional do subsistema de sade indgena. Relatrio ini-
cial. Anexos Parte 1. 205 p.
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
81
Imazon e ISA. no prelo. reas Protegidas na Amaznia Brasileira: Avanos e Desafos.
Inep. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Ansio Teixeira. 2009. Portal Ideb.
Disponvel em <http://portalideb.inep.gov.br>. Acesso em 15 de setembro 2010.
Inep. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Ansio Teixeira. 2010. Base de dados
Ideb: Resultados e metas. Disponvel em <http://sistemasideb.inep.gov.br/resultado>. Acesso
em 15 de setembro 2010.
Inpe. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 2010a. Monitoramento da foresta amaznica
brasileira por satlite Projeto Prodes. Disponvel em <http://www.obt.inpe.br/prodes>. Acesso
em 1 de dezembro 2010.
Inpe. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 2010b. Queimadas detectadas pelo satlite NOAA
15 Noite no Bioma Amaznia: Monitoramento de focos. Disponvel em <http://www.dpi.inpe.
br/proarco/bdqueimadas/>. Acesso em 1 de dezembro 2010.
Ipea. Instituto de Pesquisas Econmicas Aplicadas. 2004. Brazilian monitoring report on the
Millennium Development Goals. Braslia: Ipea. 96 p. Disponvel em <http://www.ipea.gov.
br/sites/000/2/pdf/2004%20Brazilian%20MDGs%20Report.pdf>. Acesso em 25 de julho
2010.
Ipea. Instituto de Pesquisas Econmicas Aplicadas. 2005. Objetivos do Desenvolvimento do Mil-
nio: Relatrio nacional de acompanhamento. Braslia: Ipea. 205 p. Disponvel em <http://www.
ipea.gov.br/005/00502001.jsp?ttCD_CHAVE=124>. Acesso em 16 de julho 2010.
Ipea. Instituto de Pesquisas Econmicas Aplicadas. 2010a. Ipeadata: Indicadores regionais. Tema:
Contas nacionais. Disponvel em <http://www.ipeadata.gov.br/>. Acesso em 17 de novembro
2010.
Ipea. Instituto de Pesquisas Econmicas Aplicadas. 2010b. Ipeadata: Indicadores sociais. Tema:
Renda. Disponvel em <http://www.ipeadata.gov.br/>. Acesso em 17 de novembro 2010.
Ipea. Instituto de Pesquisas Econmicas Aplicadas. 2010c. Ipeadata: Indicadores sociais, Tema:
Mercado de trabalho. Disponvel em <http://www.ipeadata.gov.br/>. Acesso em 16 de agosto
2010.
Ipea. Instituto de Pesquisas Econmicas Aplicadas. 2007d. Ipeadata: Indicadores sociais. Tema:
Educao. Disponvel em: <http://www.ipeadata.gov.br>. Acesso em 18 de agosto 2010.
ISA; Greenpeace; ICV; Ipam; TNC; CI; Amigos da Terra- Amaznia Brasileira & Imazon. 2007.
Pacto pela valorizao da foresta e pelo fm do desmatamento na Amaznia. Disponvel em
<http://www.socioambiental.org/banco_imagens/pdfs/doc-pacto%20desmatamento%20
zero%20SUM%20ONGs%20FINAL.pdf>. Acesso em 20 de setembro 2010.
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
82
ISA. Instituto Sociambiental. 2006. ISA publica reportagem especial sobre sade indgena. Dispo-
nvel em <http://www.socioambiental.org/nsa/detalhe?id=2272>. Acesso em 16 de novembro
2010.
ISA. Instituto Sociambiental. 2010. reas Protegidas e territrios indgenas. So Paulo: Instituto
Socioambiental.
Juras, I. 2009. Comparao entre o Fundo Amaznia e o Fundo Nacional sobre mudana do
clima. Braslia: Cmara dos Deputados. Disponvel em <http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/
handle/bdcamara/3165/fundo_Amaznia_juras.pdf?sequeseq=1>. Acesso em 20 de setembro
2010.
Killeen, T.J. 2007. A perfect storm in the Amazon wilderness: Development and conservation in
the context of the Initiative for the Integration of the Regional Infrastructure of South America (IIR-
SA). Advances in Applied Biodiversity Science. Center for Applied Biodiversity Science (CABS).
Conservation International. 102 p. Disponvel em <http://www.conservation.org/publications/
Documents/AABS.7_Perfect_Storm_English.low.res.pdf>. Acesso em 23/09/2010.
MCT. Ministrio da Cincia e Tecnologia. 2010. Segunda comunicao nacional do Brasil Con-
veno-Quadro das Naes Unidas sobre mudana do clima. Sumrio executivo. Brasilia: MCT.
55 p. Disponvel em <http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/326751.html#lista>.
Acesso em 19 de novembro 2010.
MDS. Ministrio do Desenvolvimento Social e Combate Fome. 2010. Nmero de famlias bene-
fciadas com transferncias de renda pelo Programa Bolsa Famlia (PBF). Disponvel em <http://
www.ipeadata.gov.br>. Acesso em 17 de maio 2010.
MEA. Millennium Ecosystem Assessment. 2005. Ecosystems and human well-being: synthesis.
Washington, DC: Island Press. 160 p.
MJ. Ministrio da Justia. 2010. Campanha do desarmamento ser permanente. Notcias em se-
gurana pblica. Disponvel em <http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ4E0605EDITEMIDA83-
BBB7F96384D4EB3D011FD3BDE6F09PTBRNN.htm>. Acesso em 19 de outubro 2010.
Monteiro, A.; Cardoso, D.; Verissimo, A. & Souza Jr., C. 2009. Boletim Transparncia Manejo
Florestal - Estado do Par 2008 a 2009. Belm: Imazon. 16 p.
MS. Ministrio da Sade. 2010a. Datasus: Indicadores e dados bsicos. Tema: Indicadores so-
cioeconmicos. Disponvel em <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2008/matriz.htm#socio>.
Acesso em 13 de setembro 2010.
MS. Ministrio da Sade. 2010b. Datasus: Sistema de informao de ateno bsica a crianas
desnutridas: Disponvel em <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?siab/cnv/SIABSBR.
DEF>. Acesso em 16 de setembro 2010.
MS. Ministrio da Sade. 2010c. Datasus: Indicadores e dados bsicos. Tema: indicadores de
mortalidade. Disponvel em <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2008/matriz.htm#mort>. Aces-
so em 13 de setembro 2010.
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
83
MS. Ministrio da Sade. 2010d. Datasus: Indicadores e dados bsicos. Tema: indicadores de
cobertura. Disponvel em <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2008/matriz.htm#cober>. Acesso
em 13 de setembro 2010.
MS. Ministrio da Sade. 2010e. Datasus: Indicadores e dados bsicos. Tema: Indicadores demo-
grfcos. Disponvel em <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2008/matriz.htm#demog>. Acesso
em 13 de setembro 2010.
MS. Ministrio da Sade. 2010f. Boletim Epidemiolgico AIDS-DST. Ano VI 1. Disponvel em
<http://www.aids.gov.br/publicacao/boletim-epidemiologico-aids-2009>. Acesso em 26 de no-
vembro 2010.
MS. Ministrio da Sade. 2010g. Datasus: Indicadores e dados bsicos. Tema: Indicadores de
morbidade e fatores de risco. Disponvel em <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2008/matriz.
htm#morb>. Acesso em 13 de setembro 2010.
MS. Ministrio da Sade. 2010h. Departamento de DST, Aids e hepatites virais. Casos de Aids
Identifcados no Brasil. Disponvel em <http://www2.aids.gov.br/cgi/tabcgi.exe?tabnet/br.def>.
Acesso em 13 de setembro 2010.
MS. Ministrio da Sade. 2010i. Casos confrmados de malria no Brasil. Disponvel em <http://
portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/tab_casos_confrmados_malaria_bra_gr_e_ufs_90a09.
pdf>. Acesso em 13 de setembro 2010.
MS. Ministrio da Sade. 2010j. Secretaria de Vigilncia em Sade. SIG malria. Disponvel
em: <http://dw.saude.gov.br/portal/page/portal/sivep_malaria?Ano_n=2008>. Acesso em 13 de
setembro 2010.
MS. Ministrio da Sade. 2010l. Datasus: Indicadores e dados bsicos. Tema: Indicadores de
recurso. Disponvel em <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2008/matriz.htm#recur>. Acesso
em: 13 de setembro 2010.
MS. Ministrio da Sade. 2010m. Datasus: Sistema de Informao sobre Mortalidade SIM. Homi-
cdios por UF. Disponvel em <http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0205>.
Acesso em 14 de agosto 2010.
MTE. Ministrio do Trabalho e Emprego. 2010. Bases estatsticas Caged 2009. Programa de Disse-
minao de Estatsticas do Trabalho. Disponvel em <http://sgt.caged.gov.br/index.asp>. Acesso
em 12 de setembro 2010.
Nepstad, D.; Schwartzman, S.; Bamberger, B.; Santilli, M.; Alencar, A.; Ray, D. & Schlesinger, P.
2006. Inhibitation of Amazon deforestation and fre by parks and indigenous reserves. Conserva-
tion Biology 20 (1): 65-73.
Nepstad, D.; Soares-Filho, B.; Merry, F.; Lima, A.; Moutinho, P.; Carter, J.; Bowman, M.; Catta-
neio, A.; Rodrigues, H.; Schwartzman, S.; McGrath, D.; Stickler, C.; Lubowski, R.; Piris-Cabezas,
P.; Rivero, S.; Alencar, A.; Almeida, O. & Stella, O. 2009. The end of deforestation in the Brazilian
Amazon. Science 326(5958): 1350 1351.
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
84
OIT. Organizao Internacional do Trabalho. 2005. Uma aliana global contra o trabalho escra-
vo. Enaft - Encontro Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho 2005.
OMS. Organizao Mundial da Sade. 2007. Maternal mortality in 2005: Estimates developed by
WHO, Unicef, UNFPA, and the World Bank. Geneva: WHO Press. 48 p. Disponvel em <http://
whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241596213_eng.pdf>. Acesso em 11 de setembro
2010.
OMS. Organizao Mundial da Sade. 2009. Children: reducing mortality. Fact sheet 178. Dis-
ponvel em <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs178/en/>. Acesso em 2 de agosto
2010.
OMS. Organizao Mundial da Sade. 2010a. Countdown to 2015 decade report (20002010):
taking stock of maternal, newborn and child survival. Geneva: WHO Press: 53 p. Disponvel
em <http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241599573_eng.pdf>. Acesso em 4 de
agosto 2010.
OMS. Organizao Mundial da Sade. 2010b. Sade materna. Nova Iorque: OMS. Disponvel em
<http://www.who.int/topics/maternal_health/en/>. Acesso em 4 de agosto 2010.
ONU. Organizao das Naes Unidas. 2000. United Nations Millennium Declaration. Nova
Iorque: ONU. Disponvel em <http://www.un.org/millennium/summit.htm>. Acesso em 3 de
agosto 2010.
ONU. Organizao das Naes Unidas. 2005. The worlds women 2005: Progress in statistics.
Nova Iorque: ONU Disponvel em <http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/indwm/
wwpub.htm>. Acesso em 14 de setembro 2010.
ONU. Organizao das Naes Unidas. 2010a. The Millenium Development Goals Report 2010.
Nova Iorque: ONU. 80 p. Disponvel em <http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDG%20
Report%202010%20En%20r15%20-low%20res%2020100615%20-.pdf>. Acesso em 19 de ju-
lho 2010.
ONU. Organizao das Naes Unidas. 2010b. Report of the special rapporteur on contemporary
forms of slavery, Including its causes and consequences, Gulnara Shahinian. Addendum: Mis-
sion to Brazil. UN: Human Rights Council. Disponvel em <http://www.oit.org/wcmsp5/groups/
public/---ed_norm/--declaration/documents/publication/wcms_144676.pdf>. Acesso em 19 de
julho 2010.
Pnud. Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento. 2003. Atlas do desenvolvimento
humano no Brasil 1991 e 2000. Braslia: Ipea, Pnud e FJP. Disponvel em <http://www.pnud.org.
br/atlas/>. Acesso em 10 de abril 2010.
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
85
Pnud. Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento. 2010. Relatrio do desenvolvimen-
to humano brasileiro: Polticas de valor. Rio de Janeiro: Pnud. Disponvel em <http://www.pnud.
org.br/arquivos/arqui1281659408.zip>. Acesso em 15 de stembro 2010.
Portal ODM. 2009. Investimento em saneamento bsico trs grande retorno, afrma OMS. Dispo-
nvel em <http://www.portalodm.com.br/investimento-em-saneamento-basico-traz-grande-retor-
no-afrma-oms--n--122.html>. Acesso em 22 de novembro 2010.
Ribeiro, B.; Verssimo, A. & Pereira, K. 2005. O avano do desmatamento sobre as reas protegi-
das em Rondnia. O Estado da Amaznia 6. Belm: Imazon. 4 p. Disponvel em <http://www.
imazon.org.br/novo2008/publicacoes_ler.php?idpub=124>. Acesso em 2 de junho 2010.
RIPSA. Rede Interagencial de Informao para a Sade. 2006a. Razo entre bitos informados e
estimados. Disponvel em <http://www.ripsa.org.br/fchasIDB/record.php?node=F.11&lang=pt
&version=ed3>. Acesso em 4 de agosto 2010.
RIPSA. Rede Interagencial de Informao para a Sade. 2006b. Caractersticas dos indicadores.
Ficha de qualifcao: Razo de mortalidade materna. Disponvel em <http://www.ripsa.org.br/
fchasIDB/record.php?node=C.3&lang=pt&version=ed1>. Acesso em 5 de agosto 2010.
RIPSA. Rede Interagencial de Informao para a Sade. 2008a. Indicadores de sade no Brasil:
conceitos e aplicaes. Braslia: Organizao Pan-Americana da Sade. 349 p. Disponvel em
<http://www.ripsa.org.br/php/level.php?lang=pt&component=68&item=20>. Acesso em 4
de agosto 2010.
RIPSA. Rede Interagencial de Informao para a Sade. 2008b. Caractersticas dos indicadores. Fi-
cha de qualifcao: Cobertura de consultas de pr-natal. Disponvel em <http://www.ripsa.org.
br/fchasIDB/record.php?node=F.6&lang=pt&version=ed3>. Acesso em 5 de agosto 2010.
Sisarp. Sistema de reas Protegidas. 2010. Dados internos do Sistema de reas Protegidas do ISA.
TSE. Tribunal Superior Eleitoral. 2010. Estatsticas das ltimas eleies. Disponvel em <http://
www.tse.gov.br/internet/eleicoes/eleicoes_anteriores.htm>. Acesso em 14 de setembro 2010.
Unesco. 2010. Thematic paper on MDG 2: Achieve universal primary education. 58 p. Dispon-
vel em <http://www.undg.org/docs/11421/MDG2_1954-UNDG-MDG2-LR.pdf>. Acesso em 2
de setembro 2010.
Veiga, J. E. da. 2002. Cidades imaginrias: O Brasil menos urbano que se imagina. Campinas:
Ed. Autores Associados. 304 p.
WSSCC. Water Supply & Sanitation Collaborative Council. 2005. Sanitation and hygiene promo-
tion: Programming guidance. Genebra: WSSCC. 292 p.
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
86
1 O objetivo deste estudo apontar a situao dos Es-
tados da Amaznia e compar-las entre si e com o
restante do pas. No foi objeto deste estudo apon-
tar desigualdade racial. No entanto, advertimos aos
leitores que, assim como as demais regies do pas,
a populao negra, parda e ndia da Amaznia apre-
senta indicadores socioeconmicos inferiores quando
comparados populao branca (IBGE, 2010c).
2 Dados: Os indicadores utilizados neste trabalho so
dados secundrios ofciais e pblicos, disponveis na
internet ou em relatrios e publicaes. Este trabalho
avalia uma quantidade limitada de indicadores. Os
indicadores complementares foram selecionados com
base nas peculiaridades da regio para auxiliar uma
anlise mais ampla e crtica.
3 Anlises: Todos os dados esto em escala estadual,
com exceo daqueles referentes s prefeitas eleitas
(TSE) que so municipais e foram somados por Estado.
Como a maioria dos indicadores agregada em escala
estadual, para efeito das anlises, inserimos integral-
mente o Estado do Maranho e exclumos o Estado
de Gois. Os valores apresentados referentes Ama-
znia so: (i) mdia dos valores estaduais ponderada
pela populao dos Estados nos anos em questo; (ii)
mdia aritmtica dos valores estaduais; ou (ii) valores
absolutos obtidos pela soma dos Estados apresentados
de forma absoluta, em proporo ou em funo do
nmero de habitantes. Os Mapas do ndice Firjan, da
Qualidade da Educao, da Malria e da Aids apre-
sentam dados municipais e as classes de valores de-
fnidas de forma manual. Os mapas do estudo foram
confeccionados com o software ArcGis 9.
4 Avaliao: Ao considerar que as Metas do Milnio
so propostas para os pases, a avaliao das metas
apresentadas no fnal de cada seo e na sntese dos
resultados refere-se aos indicadores da regio compa-
rados com o valor esperado para o Brasil (calculado
com base nos valores nacionais e nas metas da ONU).
As projees apresentadas na avaliao das metas
baseiam-se na simples premissa de manuteno nas
taxas de evoluo dos indicadores referente ao pero-
do anterior consolidado, considerando-se dessa forma
a manuteno na taxa de crescimento populacional.
Devemos advertir que a melhora no esforo de co-
leta de dados em alguns Estados pode subestimar o
progresso em alguns dos indicadores avaliados. Ava-
liamos somente as metas propostas pela ONU. Os
indicadores complementares foram utilizados para
discutir os resultados com base em uma anlise mais
ampla e crtica. No existem metas especfcas para os
indicadores complementares usados neste relatrio e
no foi objetivo deste trabalho cri-las.
5 Neste estudo, utilizamos a defnio de pobreza apre-
sentada pelo IBGE (2010c) e antes utilizada pelo Ipea.
NOTAS
Em 2010, no Relatrio Nacional de Acompanhamen-
to (Brasil, 2010), o Ipea prope uma nova estimativa
de pobreza extrema baseada no valor de uma cesta
de alimentos com o mnimo de calorias necessrias
para suprir adequadamente uma pessoa, com base em
recomendaes da FAO e da OMS. Os ajustes pro-
postos resultam em uma queda drstica da populao
vivendo em pobreza extrema no Brasil (menos de 5%
da populao em 2008). Preferimos manter o enfoque
do nosso relatrio anterior por dois motivos princi-
pais: (1) as novas estimativas no esto disponveis
para os Estados de maneira que se possa reproduzir
seu clculo e (2) acreditamos que a defnio do sa-
lrio mnimo no Brasil abarca as necessidades bsicas
da populao, ou seja, pessoas vivendo com menos
de do salrio mnimo vivem em condies de po-
breza extrema para a realidade nacional.
6 Neste estudo utilizamos a classifcao urbano/rural
ofcial do IBGE, mas especialistas advertem que os
critrios utilizados pelo IBGE podem subestimar a po-
pulao rural no Brasil (Veiga, 2002).
7 Em Novembro de 2010, o IBGE divulgou os dados
do PIB dos Estados para 2008. No entanto, at a pre-
sente data, o valor divulgado refere-se ao PIB a pre-
os correntes. Para uma avaliao histrica do PIB
necessrio que o valor esteja a preos constantes de
2000, ou seja, defacionado. Por isso, a comparao
entre os anos e o grfco apresentam dados somente
at 2007.
8 O PIB per capita na regio amaznica aumentou em
53% entre 2000 e 2007 (com base em valores defacio-
nados), enquanto no Brasil esse aumento foi de 29%.
Nesse perodo, apenas trs Estados apresentaram um
incremento do PIB per capita abaixo da mdia regio-
nal: Amazonas (12%), Par (33%) e Amap (39%).
9 Os dados publicados pelo governo federal no relatrio
de acompanhamento (Brasil, 2010a) excluem de suas
anlises as populaes rurais do Norte do pas e por
isso no coincidem com os dados apresentados nes-
te relatrio para o Brasil, que so baseados no IBGE,
2010c. Devem-se considerar tambm as observaes
feitas na nota 5.
10 Devemos advertir que os ndices de pobreza utiliza-
dos (% da populao) no refetem a densidade de
pobreza (nmero de pobres/quilmetro quadrado).
11 Considerar nota 5.
12 Considerar nota 9.
13 O nmero de casos de trabalho escravo e a sua varia-
o temporal so infuenciados pelo nmero de ope-
raes do MTE.
14 O ndice de Gini varia de 0, quando no h desigual-
dade, at 1, quando a desigualdade mxima.
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
87
15 Os indicadores utilizados para calcular o ndice Firjan
so: 3 de emprego e renda (gerao de emprego formal,
estoque de emprego formal, salrios mdios do emprego
formal), 6 de educao (taxa de matrcula na educao
infantil, taxa de abandono escolar, taxa de distoro ida-
de-srie, percentual de docentes com ensino superior,
mdia de horas aula dirias, resultado do Ideb) e 3 de
sade (nmero de consultas pr-natal, bitos por causas
mal defnidas e bitos infantis por causas evitveis).
16 Dados estaduais ainda no disponveis para o clculo
do IVH da regio amaznica.
17 Taxa de frequncia escolar lquida: proporo de pes-
soas de uma determinada faixa etria que frequenta
escola na srie adequada, conforme a adequao
srie-idade do sistema educacional brasileiro, em re-
lao ao total de pessoas da mesma faixa etria. Esses
dados no coincidem com os dados apresentados no
relatrio anterior porque anteriormente utilizamos so-
mente a taxa bruta.
18 Taxa de frequncia escolar bruta: proporo de pes-
soas de uma determinada faixa etria que frequenta
escola em relao ao total de pessoas da mesma faixa
etria.
19 A Lei 9.504, de 1997, determina que cada partido ou
coligao deve reservar o mnimo de 30% e o mximo
de 70% para candidaturas ao Legislativo a cada sexo.
20 A senadora do Par (Marinor Brito, PSol) foi eleita para
o cargo no Senado devido impugnao da candidatura
de Jader Barbalho (PMDB) pela Lei da Ficha Limpa.
21 Populao Economicamente Ativa (PEA) compreende
o potencial de mo-de-obra com que pode contar o
setor produtivo, isto , a populao ocupada e a po-
pulao desocupada. Populao ocupada so aquelas
pessoas que esto trabalhando (ou de frias e/ou outra
licena). J a Populao Desocupada so as pessoas
que no tinham trabalho, mas estavam dispostas a tra-
balhar.
22 Mais informaes sobre o Pacto pela reduo da
mortalidade infantil Nordeste - Amaznia Legal em:
<http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profssional/
area.cfm?id_area=1583>
23 Este indicador provavelmente bastante superesti-
mado na Amaznia. Segundo o MS (2010b) h maior
probabilidade de registro de partos hospitalares no sis-
tema de informao sobre nascidos vivos. Alm disso,
o indicador exclui os partos sem informao sobre o
local onde ocorreram.
24 Como aponta a demgrafa Marta Azevedo, a inexis-
tncia de fontes de dados confveis para as popula-
es indgenas no um problema isolado do Bra-
sil. Outros pases da Amrica Latina, frica, sia e
Oceania tambm enfrentam este problema. Leia mais
em: http://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/
quantos-sao/diferentes-estimativas.
25 Em muitos casos, as informaes apresentadas ava-
liam tendncias gerais das polticas indigenistas em
mbito nacional e so pertinentes no apenas para a
Amaznia, mas tambm para outras regies do pas.
Cmputos produzidos pelo ISA.
26 H atualmente no Brasil 655 TIs que somam uma
extenso total de 1.105.006 quilmetros quadrados
e correspondem a 13% do territrio nacional. Deste
total, apenas 1,39% encontra-se espalhada pelas re-
gies Nordeste, Sudeste, Sul e Estado de Mato Gros-
so do Sul. O ISA estima que existam hoje cerca de
233 povos, falantes de mais de 180 lnguas e dialetos
diferentes, que totalizam aproximadamente 600 mil
indivduos. Destes, 43 povos tambm habitam pases
vizinhos. Mesmo quando havia informaes demogr-
fcas a respeito, essas parcelas no foram consideradas
nas estimativas. Cmputos produzidos pelo ISA.
27 Este cmputo no inclui as TIs em fase inicial de regu-
larizao e nem contabiliza a considervel poro de
povos e indivduos que circulam e habitam entre as
TIs, as vilas, as cidades e as capitais da regio. difcil
fazer o levantamento dessa populao por causa da
alta mobilidade territorial e porque muitos indivduos
no se reconhecem ofcialmente como povos indge-
nas em contextos urbanos. Provisoriamente, a partir
de fontes esparsas e diversas, estimamos em 450.000
a populao indgena que habita as cidades e reas
rurais da Amaznia no regularizadas como TIs. Cm-
putos produzidos pelo ISA.
28 Entretanto, embora a curva geral seja positiva, as lis-
tagens do ISA apontam que ao menos sete povos tm
populaes reduzidas, que variam de 5 a 40 indivdu-
os. Essa tendncia positiva aponta para a efetividade
dos mecanismos diferenciados dispostos na Constitui-
o Federal de 1988, embora, na prtica, muito pre-
cise ainda ser aprimorado. Para mais detalhes, ver o
quadro geral dos povos: http://pib.socioambiental.
org/pt/c/quadro-geral e a produo da demgrafa Mar-
ta Azevedo. Um artigo de sntese pode ser encontrado
em: http://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/
quantos-sao/quantos-eram-quantos-serao
29 Conforme dispe o artigo 231 da Constituio Federal
de 1988.
30 Constituem suas principais referncias a Lei de Dire-
trizes e Bases da Educao Nacional (LDBE) de 1996,
a Resoluo 3/1999 do Conselho Nacional de Edu-
cao, o Plano Nacional de Educao, aprovado em
2001, e o projeto de lei de reviso do Estatuto do n-
dio, que tramita no Congresso Nacional.
31 Para mais, leia: http://pib.socioambiental.org/pt/c/politi-
cas-indigenistas/educacao-escolar-indigena/introducao.
O
E
s
t
a
d
o
d
a
A
m
a
z
n
i
a
:
I
n
d
i
c
a
d
o
r
e
s
A
A
m
a
z
n
i
a
e
o
s
O
b
j
e
t
i
v
o
s
d
o
M
i
l
n
i
o
2
0
1
0
88
32 O aumento progressivo do nmero de escolas verif-
cado nesse perodo deve-se no s a um maior rigor
no fornecimento de informaes para o Censo Esco-
lar, mas tambm ao fato de que nos ltimos anos os
sistemas de ensino estaduais e municipais passaram
a regularizar as escolas das aldeias, reconhecendo-as
como escolas indgenas. Isso implicou em processos
de reconhecimento de salas de aulas localizadas
em aldeias que antes eram consideradas como salas
de extenso de escolas rurais e/ou urbanas. Deve-se,
ainda, ao abandono da dinmica de nucleao de es-
colas, quando vrias escolas so vinculadas a um ni-
co endereo e, portanto, aparecem como um nico
estabelecimento.
33 Esta expanso tem sido possvel por conta de progra-
mas fnanciados pelo governo federal, a partir dos
quais as secretarias de educao, as universidades e
as ONGs passaram a atuar junto aos ndios na elabo-
rao de materiais especfcos.
34 97,7% das escolas indgenas faziam parte do Progra-
ma Nacional da Merenda Escolar (Inep/MEC, 2007).
35 O registro dos bitos infantis entre as populaes in-
dgenas de bastante complexidade devido a subnoti-
fcao de bitos e as taxas apresentadas podem estar
subestimadas (IDS-SSL-Cebrap, 2009.)
36 O desafo da gesto ambiental em TIs foi defnido
como atribuio do MMA em 19 de maio de 1994,
no Decreto 1.141, que dispe sobre as aes de
proteo ambiental, sade e apoio s atividades pro-
dutivas para as comunidades indgenas. A responsa-
bilidade do Ministrio no se restringe rea interna
delimitada pelo permetro da TI, mas abarca tambm
o seu entorno e as atividades que, realizadas fora da
TI, podem promover impactos nas condies de vida
da populao indgena. Inclumos nessa situao, por
exemplo, os casos de poluio de guas fuviais situa-
das a montante do limite da TI e que por dentro dela
passam.
37 Para saber mais sobre os Aw-Guaja e os Guajajara
acesse a Enciclopdia dos Povos Indgenas no Brasil:
http://pib.socioambiental.org/pt
38 Vide nota 23.
39 Em 2010, o governo brasileiro apresentou taxas de
mortalidade materna corrigidas e estimativas para o
ano de 1990 no Relatrio Nacional de Acompanha-
mento (Brasil, 2010). Os dados corrigidos e as esti-
mativas para 1990 modifcam a meta esperada para
2015 (Reduzir em 75%, entre 1990 e 2015, a taxa
de mortalidade materna) em relao quela apresen-
tada em nosso estudo anterior (Celentano e Verssimo
2007). A meta brasileira passou de 13 para 35 bitos
para cada 100.000 nascidos vivos.
40 A populao (especialmente rural) da Amaznia tem
pouco acesso a hospitais e exames especializados. Por
isso, o nmero de casos de doenas registrado e taxas
podem estar subestimados, assim como as estimativas
de mortalidade.
41 O aumento expressivo no nmero de casos pode ser
resultado do aumento do nmero de exames realiza-
dos na regio. Em 1990, as estatsticas sobre a Aids
eram incipientes e no se constituem uma base de
comparao precisa.
42 O nmero de casos e a taxa de incidncia de malria
podem ser subestimada em algumas regies da Ama-
znia, considerando-se a difculdade de acesso da po-
pulao de certas reas a centros mdicos para fazer
exames e tratamento.
43 Existem algumas campanhas estaduais como o Pacto
pela Vida em Pernambuco que tem a meta de reduzir
os homicdios em 12%.
44 Estimativa com base em imagens noturnas do satlite
NOAA-15 (Modis, Nasa). importante ressaltar que
h vrios tipos de satlites e sensores para capturar
focos de calor e nem sempre os resultados entre eles
so compatveis.
45 Taxa anual refere-se ao perodo de agosto de um ano
at julho do ano seguinte. Portanto, desmatamento
2010 refere-se a desmatamento 2009-2010.
46 reas quilombolas e militares tambm so classi-
fcadas como reas Protegidas. Alm disso, nesse
perodo tambm aumentou a rea em imveis rurais
que deve ser conservada como Reserva Legal, pas-
sando de 50% para 80% (MP 2.166-67, de 2001).
No entanto, o Cdigo Florestal altamente descum-
prido na regio.
47 Inclui cerca de 370 mil quilmetros quadrados de
APAs.
48 Meta em relao a 1990.
49 Com exceo da meta Dar acesso aos benefcios das
novas tecnologias, tais como tecnologias da infor-
mao e das comunicaes. A populao que vive
em domiclios com telefones na Amaznia aumentou
de 9%, em 1990 (Pnud, 2003), para 77% em 2000
(IBGE, 2010c). A regio fca 8 pontos percentuais
abaixo da mdia brasileira em 2009 (85%). Em 2009,
15% da populao da Amaznia possua computador
em seus domiclios. Por outro lado, a mdia brasileira
era maior: 28%.
50 Situao das metas avaliadas por Estado. Em verde, as
metas j atingidas. Em amarelo, as metas que pode-
ro ser atingidas no tempo proposto. Em vermelho, as
metas que difcilmente sero atingidas. As projees
apresentadas na avaliao das metas baseiam-se na
simples premissa de manuteno nas taxas de evolu-
o dos indicadores referente ao perodo anterior con-
solidado, considerando-se dessa forma a manuteno
na taxa de crescimento populacional. Metodologia de
cartografa baseada em LAtlas 2006 (Monde Diplo-
matique).
Apoio
Articulao Regional Amaznica (ARA) uma rede de
organizaes de pases amaznicos que busca contribuir na
reduo do desmatamento e uso sustentvel da biodiversidade. Sua
misso facilitar o intercambio de atores e experincias entre os
diferentes pases para a construo de uma nova viso amaznica
e novos modelos de desenvolvimento. Essa publicao parte
de uma iniciativa regional de ARA para avaliar dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milnio nos distintos pases amaznicos.
Você também pode gostar
- Florais AstrológicosDocumento40 páginasFlorais AstrológicosThaylon Dias100% (1)
- ProblemasClassicos PDFDocumento6 páginasProblemasClassicos PDFm23tt5Ainda não há avaliações
- Revista Canguru MatemáticaDocumento142 páginasRevista Canguru MatemáticaJoyce Furlan80% (5)
- Desenho Universal: Caminhos Da Acessibilidade No BrasilDocumento3 páginasDesenho Universal: Caminhos Da Acessibilidade No BrasilMaurício Silveira0% (1)
- Petroleo Bruto e Gas NaturalDocumento17 páginasPetroleo Bruto e Gas NaturalGervásio Damião Lingue Zunguza90% (10)
- Guia Educando - Resumão Da Matemática 1 - 17,08,2020Documento36 páginasGuia Educando - Resumão Da Matemática 1 - 17,08,2020MATHEUS MACEDOAinda não há avaliações
- Ensaio de TraçãoDocumento3 páginasEnsaio de TraçãoptcasdrubalAinda não há avaliações
- Study Aids - PLANO DE CARGADocumento37 páginasStudy Aids - PLANO DE CARGAHellery Filho100% (1)
- Abordagem ComportamentalDocumento3 páginasAbordagem Comportamentaly3st0dsyAinda não há avaliações
- Resenha Sobre o Livro Frequentar Os IncorporaisDocumento3 páginasResenha Sobre o Livro Frequentar Os IncorporaisManoel FriquesAinda não há avaliações
- Lista de Exercícios 01Documento1 páginaLista de Exercícios 01flaviouft3523100% (2)
- Kilroy Et Al 2019 JÁ FOIDocumento20 páginasKilroy Et Al 2019 JÁ FOIMariana FidelesAinda não há avaliações
- Trpg-Pergaminhos AncestraisDocumento344 páginasTrpg-Pergaminhos AncestraisAnderson Dos SantosAinda não há avaliações
- Apostila 7º Ano Inglês 2023Documento11 páginasApostila 7º Ano Inglês 2023janielAinda não há avaliações
- PsicodramaDocumento14 páginasPsicodramaAline Nabono Duboviski100% (2)
- Filosofos ClassicosDocumento12 páginasFilosofos ClassicosRubens Reis50% (2)
- Cap1 - Princípios Físicos GeraisDocumento76 páginasCap1 - Princípios Físicos GeraisHottonAinda não há avaliações
- Consulta CL - Nica Ou Exame OcupacionalDocumento23 páginasConsulta CL - Nica Ou Exame OcupacionalThomas Kolesinski Stockmeier100% (2)
- Apos Defeito Areia VerdeDocumento31 páginasApos Defeito Areia VerdeLink ZeldaAinda não há avaliações
- Boas Práticas para o Gerente de Projetos de ObrasDocumento11 páginasBoas Práticas para o Gerente de Projetos de Obrasfelipedeng100% (1)
- Capm 1 PDFDocumento19 páginasCapm 1 PDFCezar Eduardo Minuzzi DelapieveAinda não há avaliações
- Modelo de Book de SMSDocumento17 páginasModelo de Book de SMSFERNANDA PINHEIRO DE OLIVEIRAAinda não há avaliações
- ICA 100-30 - PLANEJAMENTO DE PESSOAL ATC - 2008 (Com M1 de 03JUL08)Documento43 páginasICA 100-30 - PLANEJAMENTO DE PESSOAL ATC - 2008 (Com M1 de 03JUL08)kassilva62Ainda não há avaliações
- Cartilha CEERT - Estatuto Da Igualdade Racial: Nova Estatura para o BrasilDocumento19 páginasCartilha CEERT - Estatuto Da Igualdade Racial: Nova Estatura para o BrasilLu Flores100% (1)
- As Novidades No Tratamento Da AnsiedadeDocumento7 páginasAs Novidades No Tratamento Da AnsiedadeArmando Ribeiro100% (3)
- Formulário Follow-Up Cliente 2016 para UsoDocumento3 páginasFormulário Follow-Up Cliente 2016 para UsokauanesckAinda não há avaliações
- Fundamentos de Geometria II Aula 1Documento3 páginasFundamentos de Geometria II Aula 1Walter SantosAinda não há avaliações
- Reflexao CriticaDocumento4 páginasReflexao Criticarosalina rosiAinda não há avaliações
- Lista de Probabilidade e Estatística ResolvidaDocumento5 páginasLista de Probabilidade e Estatística ResolvidaAldo AldoAinda não há avaliações
- Fontes de Informação CredíveisDocumento2 páginasFontes de Informação CredíveislilapAinda não há avaliações