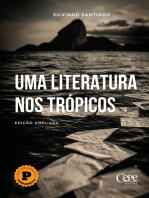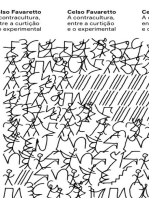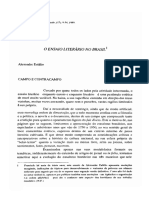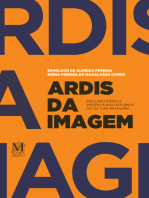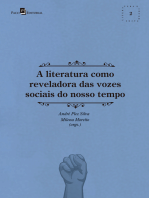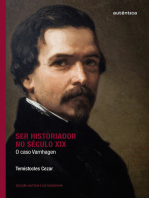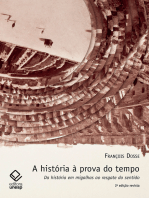Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
SARLO, Beatriz - Tempo Passado
SARLO, Beatriz - Tempo Passado
Enviado por
Camila AlmeidaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
SARLO, Beatriz - Tempo Passado
SARLO, Beatriz - Tempo Passado
Enviado por
Camila AlmeidaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Universidade Federal de Minas Gerais
Reitor
Ronaldo Tdu Pena
Vice-Reitora
Heloisa Maria Murgel Starling
Editora UFMG
Diretor
Wander Melo Miranda
Vice-Diretoffi
Silvana Cser
Conselho Editorial
Wander Melo Miranda (presidente)
Carlos Antnio Leite Brando
Jos Francisco Soares
)uarez Rocha Guimares
Maria das Graas Santa Brbara-
Maria Helena Damasceno e Silva Megale
Paulo Srgio Lacerda Beiro
Silvana Cser
Editora UF4G
Av Antnio CarJos, 6627
-
AJa direita da Biblioteca Cerltrel
_
Trreo
Carnpus Parrpuiha
-,trz7o-9or -
Belo HorizontelMG
Tel.: (3r)
3$9-4650 Fax: (3r)
3499-r,768 E-rnail: editora@uing.br
wi,r'w. editora. u?ng.br
,,_
\,
L/
BEATRTZ SARLO
Tempc passado
Cultura da memria e guinada subjetiva
Tiaduo
Rosa Freire d'Aguiar
*@b_
CoNrpa NrlrA Das trrals
Copyright @ 2005 by Beatriz Sarlo
Tiempo pasado h a sido publicado oiginalmente en espafiol en zoo5. Estatraduccin espubl-
cada mediante acuerdo con siglo xxl Edinres Argentina
[Tempo passado foi pubicado ori-
ginalrnente em espanhol em zoo5. Esta traduFo pubicada mediante acordo com sigo xxr
Editores rgentinal.
Ttulo original
Tiempo pasado
-
Cultura de Ia memoria y giro subjetivo. Una discusin
Capa
Rar:I Loureiro
,
lmagemdampa
Fanfare (1974), de George Dannatt, guache e lpis sobre acrlico.
@ Coleo particulari The Bridgeman Art Library
Prepata.o
Marcos Luiz Fernandes
Reviso
Carmen S. da Costa
Isabel jorge
Cury
Dados Internacionais de CatalogaFo na Pubao (crr)
(Cmara Brasileira do Livro, sp, Brasil)
Sallo, Betriz
Tcmpo pasado : cultura da mmria c guinada subjetiva / Bii Sarlo ;
traduo Rosa Frcirc d'Aguiar
-
So Paulo : Compaia ds Letrasi Belo
Horizonte, : UFMG, 2007,
TtuJo original: Ticmpo pasado,
jsBN
978-85-359-0981-4 (Companhia das Lctras)
rsBN 978-85-7041-583-7 (Ed. UFMG)
l. gentina - Condies sociais - 1945-1983 2.,Argentina - Condio
sociais - 1983 - 3. Mmia - Aspectos sociais - Ar8eDtina 4. Terrorismo de
Estado - gentina - Historiografia 5. Vtim4 dc terorismo de fstado -
Argentina . Hisroriografia.
Sumrio
1. Tempo passado,9
2. Crtica do testemunho : suj eito e experincia, 23
3. A retrica testemunhal,
45
4. Experincia e argumentao, 69
5. Ps-memria, reconstituies,
9o
6. Alm da experincia, rr4
Notas, rzr
07-1046
cDD.982
ndicc para crtlogo sistemticoi
1.
^rgcDtina
I Histria social 982
lzoozl
Todos os direitos desta edio reservados
EDITOM SCHWARCZ JID.
Rua Bandeira Pausta
7oz cj.
3z
o4532-ooz-So Paulo
-
sp
Telefone (rr)
3707,35oo
Fax (n)
37o7-35or
www.companhiadasletras. corn.br
(
uerra Mundial at o presente, a memria ganhou um estatuto
ilrcfutvel. certo que a memria pode se -rm impulso moral da
iristria e tambm urna de suas fontes, mas esses dois traos no
srrportam a exigncia de uma verdade mais indiscutvel que aque-
las clue possvel construir com
-
e a partir de
-
outros discur-
sos. No se deve basear na memria uma epistemologia ingnua
cujas pretenses seriam rejeitadas em qualquer outro caso.tt No
Iii'r ccluivaincia entre o direto de lembrar e a afirmao de uma
vcrclace da lernbrana;tampouco o dever de memria obriga a
rrccitar esszr equivalncia. Ao contrrio, grandes linhas do pensa-
llrcnto clo sculo xx se permitiram desconfiar de um discurso da
memria exercido como construo de verdade do sujeito. E a arte,
quando no procura mimetizar os discursos sobre memria ela-
lrorados na academia, coo acontece com certas estticas da
nlonumentalizao e contramonumentalizao do Holocusto,e
cleilonstrou que a explorao no est contida apenas dentro dos
limites da mernriar rnas que outras operaes, de distanciamento
ou recuperao esttica da dimenso biogrfica, so possveis.
3"
A retrca testemunhal
Quando
acabaram as ditaduras do sul da Amrica Latina,
lembrar foi uma atividade de restaurao dos laos sociais e comu-
nitrios perdidos no exlio ou destrudos pea violncia de Estado.
Tornaram a paiavra as vtimas e seus epresentantes
(quer dizer,
seus narradores: desde o incio, nos anos 1970, os antroplogos ou
idelogos que representaam histrias como as de Rigoberta
Menctr ou de Domitila;rnais tarde, os
jornaiistas).
Em meados da dca<ia de 1980, na cena europia, especial-
mente alem, comeou a se escrever um novo captulo, clecisivo,
sobre o Hoiocausto. De um lado, o debate dos historiadores ale-
mes sobre a soluo fral e o papel ativo do Estaclo alemo nas
polticas de reparaa e na monumentalizao do Holocausto; de
outo, a grande difuso dos textos luminosos de Primo Levi, em
que seria difci encontrar alguma afirrnao do saber do sujeito
no Lager; rnais tarde, as ieituras de Giorgio Agamben, em qlre
tampouco possvei encontar uma positividade otimista; o lme
Shoahde Claude l-attzmann, que plops um novo tratamento do
testemunho e renunciou, ao lTlesmo tempo, imagem dos cam-
44 45
sl:
I
pos de concentrao, privando-se, por um lado, de iconografia e,
po outro, forando o discurso dos sobreviventes. A meno a
acontecimentos
poderia prosseguir.' Todos acompanharam
pro_
cessos nem sempre surpreendentes do ponto de vista intelectual,
mas de grande repercusso na esfera pblica; o tema ocupou um
iugar muito visvel e, na prtica, produziu uma nova esfera de
debate. Num desses acasos que potenci arizamfatos significativos
e no podem ser ignorados, as transies democrticas no sul da
Amrica coincidiram com um novo impulso da produo inte_
lectual e da discusso ideolgica europia., os dois debates se
entrelaaram de modo inevitvel, em especial porque o Holo-
causto se oferece como modelo de outros crimes e isso aceito por
quem est mais preocupado em denunciar a enormidade do ter_
rorismo de Estado do que m definir seus traos nacionais espe_
cficos.
os crimes das ditaduras foram exibidos em meio a um flores-
cimento de discursos testemunhais, sobrtudo porque os julga-
mentos dos responsveis (como
no caso a-rgentino) exigiram que
muitasvtimas dessem seutestemunho comoprovado quetinham
sofrido e do que sabiam que outros sofreru- at morrer. No mbi-
to judicial
e nos meios de comunic aco,aindispensve
narrao
dos fatos no foi recebida com desconfianasobre
as possibilida-
des de reconstruir o passado, salvo pelos crirninosos e seus repre_
sentantes, que atacaram o valor probatrio das narraes testemu-
nhais, quando no as acusaram de ser falsas e encobrir os crimes da
guerrilha' se se excluem os culpados, ningum (fora
da esfe ra judi-
ciria) pensou em submeter a escrutnio metodolgico o testernu_
nho em primeira pessoa das vtimas. Sem dvld a, teriaalgo de
monstruoso aplicar a esses discursos os princpios de dvida
metodolgica que expusemos mais acima: as vtirnas falavam pela
primeira vez e o que contavam no s lhes dizia respeito, rnas se
transformava em "matria-prima',
da indignao e tambm em
+6
impulso das transies democrticas, que na Argentina se fez sob
o signo do Nunca mais.*
o choque da violncia de Estado jamais
pareceu um obstcu-
lo para construir e escutar a narrao da experincia sofrida. A
novidade dessa experincia, to forte como a novidade dos fatos da
Primeira Guerra Mundial a que se referia Benjamin, no impediu
a proliferao de discursos. As ditaduras representaram,
no senti_
do mais forte, uma ruptua de pocas (como
a Grande Guerra);
mas as transies democrticas
no emudecerarn por causa da
enormidade desse rompimento.
pelo
contrrio, quando despon-
taram as condies da transio, os discursos comearam a circu-
lar e demonstraram
ser indispensveis para arestaura"o de uma
esfera pblica de direitos.
A memria um bem comum, urn dever (como
se disse no
caso europeu) e uma necessidade jurdica,moral
e poltica. Aim
da aceitao
dessas caractersticas,
bem crifcil estaberecer uma
perspectiva
que se proponha examinar de modo crtico a narrao
das vtimas. se o ncieo de sua'erdade
derre sel inquestionver,
tarnbm
seu discurso deveria ser proiegido do ceiicismo e da crti
ca' A confiana nos testemunhos das vtimas necessria para a ins-
talao
de regimes democrticos e o enraizamento de um princpio
de reparao
e justia. pois
bem, esses discursos testemunhais,
sejam quais forem, so discursos e no deveriam ficar confinados
nurna cristalizao
inabordver. sobretudo porque, ern pararero e
construindo
sentidos com os testemunhos sobre os crimes das dita-
duras,
emergem outros fios de narraces que no esto protegidas
pela mesma intangibilidade
nem peio
direito dos que sofreram.
Em outras palavras: durante cefto tempo (hoje
no sabemos
*E*
1983-4,
no governo do presidente Ral Alfo'sn, foi criada a comisso
Nacional
sobre o Desaparecimento
de
pessoas,
presidida peo escritor Ernesto
Sabato.
Os resultados da comisso, publicados no livro Nnnca ms,levaram ao
julgamento
dos miitares da ditadura. (N. f.)
A7
iiliHll",
qLra'to)' pelo fato de denunciar o horror, o discurso sobre os crimes
tcm prerogativas, justamente
por comportar um vncuo entre hor-
ror e humanidade. outras narraes, inclusive as pronunciadas pelas
vtimas ou por seus representantes, que se inscrevem num tempo
runterior ao dos crirnes (no caso argentino, o final dos anos 1960 e o
incio dos 1970) e costumam p arece entrelaadas, seja porque pro-
vrn do mesmo narrador, seja porque se sucedem umas s outras, no
trn as [esmas prerrogativas e) na tarefa de reconsttuir a poca
crrclausurada pelas ditaduras, podem ser submetidas a crtica.
Alm disso, se as narraes testemunhais so a fonte principai
rl..saber sobre os crimes das ditaduras, os testeffunhos dos miii-
lrr'tes, intelectuais, polticos, religiosos ou sindicalistas das dca-
rl;rs anteriores no so a nica fonte de conhecimento; s uma feti-
r lr iz.ao da verdade testemunhal poderia outorgar-lhes um peso
riul)()l'ior ao de outros documentos, inclusive os testemunhos con-
lcr,porneos aos fatos dos anos tr960 e 1970. s urna confiana
ingnua na plimeira pessoa e na lembrana do vivido preten{eria
estabelecer uma ordem presidida peio testemunhal. E s uma
caracterizao ingnua da experincia exigiria para ela uma verda-
clc mais alta. No rnenos positivista.(no sentido em que Ben-
.jrr
rrrrr usou essa paiavra para cayacterizar os "fatos")
a intangibili-
clrcle da experincia vivicla na nawaa testeinunhal do que a de
lur relato feito a partir de outras fontes. E, se no submetemos
todas as narraes sobre os criines das ditaduras ao escrutnio
ideoigico, nohraza rnorai para ignorar esse exarne quando se
trata ctras narraes sobre os anos que as precederam ou sobre fatos
alheios aos da represso, que trhes foram conternporneos.
IJMA uropla: t{o ESeUECER N,{D,
Paul Riccur se
irergunta,
no estuctro qrie dedica s diferenas
j clssicas entre histria e dlscurso, en' que presente se narra, em
+8
que presente se rememora e qual o passado que se recupera. O
presente da enunciao o "tempo
de base do discurso", porque
presente o momento de se comear anarra e esse momento fica
inscrito na narrao. Isso implica o narrador em sua histria e a
inscreve numa retrica da persuaso (o discurso pertence ao
modo persuasivo, diz Riceur). Cs relatos testemunhais so "dis-
curso" nesse sentido, porque tm como condio um narrador
implicado nos fatos, que no persegue uma verdade externa no
momeitto em que ela enunciada. inevitvel a rnarca do presen-
te no ato de narrar o passado, justamente porque, no discurso, o
presente tem una hegernonia reconhecida como inevitvel e os
tempos verbais do passado no ficam livres de uma "experincia
fenomenolgica" do tempo presente da enunciao., "O presente
dirige o passado assim como um maestro, seus msicos", escreveu
Italo Svevo. E, corno observava Halbwachs, o passado se distorce
para introduzir-se coerncia.'
Estendendo as noes de Ricoeur, pode-se dizer que a hegerno-
nia do presente sobre o passado no discurso da ordem da erlperin-
cia e se apia, no caso do testernunho, na mernria e na subjetivida-
de. A rememorao do passado (que Benjamin propunha como a
rnica perspectiva de uma histria que no reificassse seu objeto) no
urna escolha, mas uma condio para o discurso, que no escapa da
memria nem pode iir,r'ar-se das premissas impostas pela atualidade
enunciao. E, mais que uma liber-taao dos "fatos" coisificados,
corno Benjamin desejava, uma ligao, provavelmente inevitvel,
do passado com a subjetividade que rememora no presente.
As narraes da memria tambm insinuam outros proble-
mas. Riceur assinala que errado confial na idia de que a narra-
o
possa preencher o vazio da explicao/compreenso: "Criou-se
tima alternativa faisa quefazda narratividade tanto um obstculo
como ui substituto d aexplicao'i'H riois tipos de inteligibilida-
de: a narrativ ae aexplicativa (causal). A primeira est apoiada num
efei'co de "coeso", que provm da coeso atribuda a urna rrida e ao
49
sujeito que a enuncia como sua. Vezzetti assinalou que a memria
ecorre preponderantemente ou sempre a formas narrativas, cujas
representaes "ficam necessariamente estilizadas e simplifica-
das".6 Naturalmente, a estilizao unifica etraauma linha argu-
mental forte, mas tambm instala o relato num horizonte em que
tem razes a iluso de evitar a disperso do sentido.
Da perspectiva da disciplina histrica, em compensao, jr
no se pretende reconduzir os acontecimentos a uma origem; ao
rdnunciar a uma teleologia simples, a histria renuncia, ao mesmo
tempo, a um nico princpio de inteligibiidade forte e, sobretudo,
apropriado interveno na esfera pblica, em que os velhos dis-
cursos de uma histria com argumentos ntidos prevalecem sobre
as perspectivas monogrfcas da histria acadmica.
Justamente o
discurso da memria e as.rarraes em primeira pessoa se movem
pelo impulso de bloquear os sentidos que escapam; no s eles se
articulam conta o esquecimento, mas tambm lutam por um sig-
nificado que unifique a interpretao.
No limite est a utopia de um relatacompleto", do qual nada
reste do lado de fora. A tendncia ao detaJhe e ao-acmulo de pre-
cises cria a iluso de que o concreto da experincia passada ficou
capturado no discurso. Muito mais que a histria, o d.iscurso con-
creto e pormenorizado, por causa de sua ancoragem na experin-
carecuperada a partir do singular. O testemunho insepar velda
autodesignao do sujeito que testemunha porque ele esteve ali
onde os fatos (lhe)
aconteceram. indivisvel de sua presena no
local do fato e tem a opacidade de uma histria pessoal "afundada
em outras histrias".'Por isso admissvel a desconfiana; nas, o
mesmo tempo, o testemunho uma instituio da sociedade, que
tem a ver com a esfera jurdica
e com um lao social de confiana,
como apontouArendt.
Quando
o testemunlao narra a morte ou a
vexao extrema, esse lao estabelece tambrn uma cena para o
luto, fundando assim ima comunidade ali onde ela foi destruda.'
5o
O discurso da memria, transformado em testemunho, tem a
ambio da autodefesa; quer persuadir o interlocutor presente e
assegurar-se uma posio no futuro; justamente
por isso tambm
atribudo a ele um efeito reparador da subjetividade. esse aspecto
que salientam as apologias do testemunho como "cura" de identi-
dades em perigo. De fato, tanto a atribuio de um sentido nico
histria como a acumulao de detalhes produzem um moclo rea-
lista-romntico em que o sujeito que narra atribui sentidos a todo
detalhe pelo prprio fato de que eie o incluiu em seu relato; e, em
contrapartida, no se cr obrigado a atribuir sentidos nem a expli-
car as ausncias, como acontece no caso da histria. O primado do
detalhe um modo realista-romntico de fortalecimento da credi-
bilidade do narrador e da veracidade de sua na rrao.
Ao contrrio, a disciplina histrica se localiza longe da utopia
de que sua narrao pode incluir tudo. Opera com elipses, por
motivos rrretodolgicos e expositivos. Sobre essa questo, Riceur
estabeleceu uma diferena entre "individual"
e "especfco" (que
lembra a defnio lukacsiana de tipo):"paui Veyne desenvolve o
aparente paradoxo de que a histria no tem como objeto o indi-
vduo, mas o especfico.A noo de intriga nos afasta de toda defe-
sa da histria como urna cincia do concreto. Incluir um elemen-
to em uma intriga irnplica enunciar algo inteligvel e, por
conseguinte, especfico:'Tdo o que se pode enunciar sobre um
indivduo possui uma espcie de generaliclade"'.0 C especfico his-
trico o que pode compor a intriga, no como simples detalhe
verossmil, rnas como trao signifcativo;no uma expanso des-
critiva da intriga, mas urn elemento constitutirro submetido sua
gica. O princpio da elipse, confrontado com a idia ingnua de
que todo o narrvel importante, governa o especfico porque,
como acontece na literatura, a elipse uma das igicas de sentido
de um relato.
51
,,u&.*,
( } M
()I)0
I].EALISTA-ROMNTICO
(
)itci Susan Sontag no comeo. Sua advertncia de que diante
tios rcstos da histria preciso confiar menos na memria e mais
rr;ts opcrares intelectuais, compreender tanto ou mais que lem-
lrrrr', corresponde de Annette Wieviorka, quando afirma que
vivcrnos "[...] uma poca em que, de modo geral, o relato indivi-
tltral c a opinio pessoal ocupam muitas vezes o lugar da anlise',.t'
Se esse o tom da poca, importa salientar a potencialdade
cxplicativa da intriga, que) para dar alguma inteligibilidade
-
I)oucornportaquoproblerntica fatosreconstitudos,
rlcvc rnanter um controle sobre o detalhe. Sem dvida, a verdade
cstri no detalhe. Mas, se no submetido crtica, o detarhe afetaa
i ntriga por sua abundnci realista, isto , por seu aspecto veross-
rnil mas no necessariamente verdadeiro. A proliferao do deta-
lhe i'dividual fecha ilusoriamente as fendas da intriga e a apresen-
ta como se ela pudesse ou devesse representar um todo, algo
completo e consistente porque o detJ[e o certifica, sem ter de
mostrar sua necessidade. lrn disso, o detahefora o tom de
verdade ntima do relato: o narrador que lernbra de modo exaus-
tivo seria incapaz de passar por alto o importante, nem for-o,
pois o que narra forrnou um desvo pessoal de suavida, e so fatos
clue ele viu cam os prprias olhos.Num testemunho, jamais
os deta-
lhes devem parecer falsos, porque o efeito de verdade depende
rlc'les, inclusive de sua acumulao e repetio.r
4uitos relatos testemunhais so ercessivamente detalhadas,
at pror'rativos e alheios a qualquer pr-incpio cornpositivo; isso
bern claro no caso dos desaparecidos argentiiros, chilenos e uru-
guaios, e de seus farniliares. h4as h alguns textos em que o detaihe
controlado pela idia de uma representao restrita da situao
carcerria e,por conseguinte, bem rnais limitada s suas condies.
Penso err' Th.e little school, da argentina Alicia Fartnoy. No por
acaso, The linle school comea com o relato da captura de
partnoy
contado em terceira pessoa, de modo que a identificao
seja
mediada por um princpio de distncia. E, quase na metade do
livro, outro terto em teceira pessoa vale como uma espcie de corte
no movimento de identificao autobiogrfica;
a terceira pessoa
um compomisso com o especfico da situao e no simplesmen_
te com o que ela tem de individua. A primeira
frase : "Naquere
meio-dia ela estava calando os chinelos do marido' Esse mundo
familiar concreto se quebra com as batidas porta; chegam os
seqestradores"
No primeiro captulo, a presa_desaparecida,
recm-transferida para "a
Escolinha,] identifica, por baixo das ven_
das que a impedem de ver, uma manch a azul egotas de sangue: so
as caias de seu marido' Nada mais, a no ser a deciso de registrar
tudo (olhando
de soslaio, pra o cho, pela fenda do purro q* rupu
seus olhos)'
"
Pela repetio do insignifi cante, os detalhes de The tit-
tle school se negam a criar um conjunto de representao. partnoy
os aruma sabendo que so muito poucos e muito pobres, porque
pertencem a uma experincia mutilada pela imobilidade perma_
nente e pela ocluso do visver. o detalhe insignificante
e repetido
se adapta melhor que a proliferao ao que ela relata.
Nenhuma soma de detalhes consegue evitar que uma histria
que restrita s interrogaes que rhe deram origem. os firhos de
desaparecidos
dizern isso de diversas maneiras: sente que o rera-
to sempre fica incompleto
e que devem continuar a constru_lo.
Isso tem uma dimenso dramtica e jurdica
que expressa a minu_
ciosa destruio dos vestgios levada a cabo peros responsveis
por
desaparecimentos.
Em outros casos, quando a histria que se deseja reconstituir
no s a do pai ou da me assassinados, quanclo o que se busca
entender
no tanto o lugar ou as circunstncias
da morte e o des-
tino do corpo, quando as pretenses da narraco ultr.apassam
a
busca de uma lesposta uergunta sobre as condies em que se
))
exerceu a violncia de Estado e visam incluir a paisagem cultural e
poltica anterior s intervenes militares, ficam bem evidentes as
fraquezas de uma memria que lembra uma profuso de detalhes
no significativos, uma memria qre, como no podia deixar de
ser, ora entende e ora no entende aquilo mesmo que ela reconsti-
tui. nesse momento que a iluso de uma representao comple-
ta produz disquisies narrativas e descritivas, digresses e desvios
ujo motivo apenas o fato de ter acontecido com o narrador ou
com o sujeito que ele evoca. E, ento, a proliferao multiplica os
fios de um relato testemunhal sem encontrar arazo argumenta-
tiva ou esttica que sustente sua trama. Esse o caso do livro de
Cristina Zuker) que tem como objeto a vida de seu irmo Ricardo,
militante montonero, desaparecido na fracassada contra-ofensiva
iniciada em 1979. O subttulo Una saga
familiar
especialmente
apropriado misso reconstitutiva, que comea com os avs
maternos e paternos dos dois irmos, sua infncia, a relao com
os pais, a relao entre os pais, os conflLtos psicolgicos de urna
famlia, as preferncias cotidianas, tudo isso conlo-um prembulo
que se imagina necessrio (como se se tratasse de um romance ea-
lista) antes de entrar nos anos 1970; e,ut *.t*o nesses anos, os
detalhes da vida farniiar, as crianas, o destino dos filhos de desa-
parecidos ou combatentes ocupam posies importantes no rela-
to, que, assim, se sustenta numa dimenso afetiva de rememora-
o.
Restrita idia realista do romance, Zuker escreve um captulo
final em que, como em Dickens, se acompanha o destino dos per-
sonagens) em alguns casos at a morte, apresentada como emble-
mlrcado que sofreram em vida, sen esses esclarecimentos finais
terem uma razo compositiva que os ligue histria central, que,
de toda maneira, foi se bifurcando em um testernunho da autora
sobre a relao com seu irmo e muitas outras coisas.rl
Entre detalhe individual e relato ieleolgico h uma rclao
bvia, embora nem sempe visvel. Se a histria tern um sentido
54
estabelecido de antemo, os detalhes se acomodam nessa direo,
mesmo quando os prprios protagonistas custam a perceb-la. Os
traos, peculiaridades, defeitos menores e manias dos personagens
do testemunho acabam se organizando em algum tipo de necessi-
dade inscrita alm deles. O modo a que chamei de realista-romn-
tico se adapta bem a essas caractersticas da narrao testemunhal
que, justamente por estarem respaldadas por uma subjetividade
que narra sua experincia, do a impresso de coloc-la alm do
exame.
A qualidade romntica tem a ver com duas caractersticas. A
primeira, evidentemente, o fato de centrar-se na primeira pessoa,
ou numa terceira pessoa apresentada pelo discurso indireto livre,
que confere ao narrador a perspectiva de uma primeira pessoa. O
narrador confia na representao de uma subjetividade e, com fre-
qncia, em sua expresso efusiva e sentimental, que rernete a um
horizonte narrativo identificvel com o "toque de cor" do jornalis-
mo, algumas formas do non
fiction
olr os maus romances (sou
consciente de que o adjetivo mattsdesperta certa inquietao rela-
tivista, mas gostaria que se admitisse a existncia de rornances a
que se pode aplicar o adjetivo).
Em segundo lugar, os textos <ie inspirao memorialstica
produzidos sobre as dcadas de 1960 e1970 se referem juventu-
de de seus protagonistas e narradores. No se trata de r.lm simpies
dado demogrfico (a metade dos mortos e desaparecidos argenti-
nos tinha menos de 25 anos), mas antes da crena em que certa
etapa de uma gigantesca mobilizao revolucionria se desenvol-
veu sob o signo inaugural e iminente c1a juventude. Desde os anos
da ditadura argentina, as organizaes de direitos humanos, espe-
cialmente as Mes e mais tarde as Avs, falaram de "nossos flhos",
fixando numa palavra de ordem um argumento poderoso: sacrifi-
cados ern plena juventude, justamente porque correspondiam a
uma imagem da juventude que coincide com o senso comul
-
55
t
. i.
gtsK-,
'
lt'sP'c'dinrerto,
mpeto, idearismo.
A quaridade juveni
enfati-
,/;( l; (rra'do
os flhos desses militantes
mortos ou desaparecidos
rlrrPlic:irr'
o efeito de juventude,
destacando que eres so, na atua-
litlrrrle,
mais velhos que os pais no momento em que estes foram
irssussinados'
Entre as Mes e os Filhos, o sujeito da memria des-
srrs dcadas a juventude
essencial, congerada
nas fotograas
e na
r't orte.
evidente que, para as vtimas ou seus familiares,
montar
r rrrra histria um captulo
na busca de uma verdade que, de toda
rnarneira, a reconstituio
dos fatos no modo rearista-romntico
'o
tem, invariavelmente'
condies de restaurar. A prtica
dessa
narrativa um direito e, ao exerc-lo, embora
subsista a parte
incompreendida
do passado, e anarraono
consiga responder
s perguntas que a gerarair,
a lembrana
como processo
subjetivo
abre uma expiorao
necessria ao sujeito que embra (e
ao
mesmo tempo o separa de quem resiste a lembrar).
A qualidade
realista sustenta que a acumulao
de-pcripcias
produz o saber
procurado
e que esse saber poderia ter um
Significado
geral.
Reconstituir
o passado
de um sujeito ou reconstituir
o prprio
passado,
atravs de testemunhos
de fort inflexao
autobiogrfica,
irrrplica que o sujeito que n arra (porquenarra)
se aproxime
de uma
verdade que, at o prprio
momento da narrao,
ele no conhe-
cia totalmente
ou s conhecia ern f agmentos
escamoteados.
O
QUE FOI O PRESENTE?
mernria sempre anacrnica:.,um
revelador
do presente,,,
escreveu F{albwacrrs.
A rneinria
no invariavemente
espont-
nea. No frLme Slrcah, os adees poioneses,
a quem Lanzmann
obriga a lembrar, com violnciat,erbal
e acuando_os
com a cme_
ra, lespondem
sobre uina poca qre se v-em forad as aitazer at
o presente
em que esto respondendo;
o mesmo acontece
com os
sobreviventes
dos campos
de concentrao,
impelidos
a ir mais
longe do que lembrariam
se entregues
apenas
a uma rememorao
espontnea.
Lanzmann
fora
os aldees pooneses
que viveram
perto dos locais dos campos
a lembrar
o que esqueceram,
o que
no querem lembrar,
suas prprias
misrias e indfnidades
diante
dos trens que passavam
com as vtimas;
e tambm
consegue
obter
mas lembranas
do que as "espontneas,,
dos sobreviventes,
a
quempersegue
com sua cmera
at que alguns deleslhepeam
que
d a entrevista por encerrada.
Nos dois casos, trata_se
de uma
imposio
da memria.
Tanto nos aldees como nos sobreviven_
tes, embora de modos distintos,
a memria
exigida alm do que
os sujeitos pensaram
que ela poderia
ser e alm de seus interesses
e
vontades.Assim,
a memria
do Holocausto
se descentra,
no por_
que abandone
a cena do massacre,
mas poque
vai a ela apesar d,e
quem
d seu testemunho,
e pressionando
a lembrana
habitual.
O conhecimento
que Lanzmann
tem dos campos
empllra
a
memria
das vtimas
ou dos testemunhos
a ponto
de faz_los
dizer
mais do que diriam se entregues
prpria
espontaneidade.
A
interveno
um jeito
de forar
"
mem.ia
espontnea
daquele
passado
e sua codifirlaao numa narrao
convencional,
sobre a
qual se exerce a presso
de um conhecimento
construdo
no pre_
sente. Cs aldeoes
ou as vtimas
falam no presente
e, inevitavelmen_
te, sabem rnais do que sabiam
no momento
dos fatos, embora tam
brn tenham esquecido
ou procui-ado
o esquecimento.
Essa discordncia
dos terpos
inevitveJ
nas narraes
tes_
iernunhais'
A discipiina
histrica
tambm
perseguida
pero ana-
ctronismc,
e um de seus probemas
justamente
reconhec_lo
e
traar
seus limites. Todo ato cle discorrer
sobre o passado
tem urna
dirnenso
anacrnlca;
quando
Benjamin
se inclina por uma hist_
ria que liberte o passado
de sua reificao,
redimindo-o
num ato
presente
de memria,
no imprilso
messinico
peo qual
o presente
_)o
E-
se responsablzariapor uma dvida de sofrimento com o passado,
ou seja, no momento em que a histria pensa em construir uma
paisagem do passado diferente da que percorre, com espanto, o
anio de Klee, ele est indicando no s que o presente opera sobre
a construo do passado, mas que tambm seu dever faz-lo.
anacronismo benjaminiano tem, por um lado, uma dimen-
so tica e, por outro
,
faz parte da polmica contra o fetichismo
documental da histria cientfica do comeo do sculo xx. No
entanto, a crtica da qualidade objetiva atribuda reconstituio
dos fatos no esgota o problema da dupla inscro temporal da
histria. A indicao de Benjamin tambm poderia ser lida como
uma lio para historiadores: olhar para o passado com os olhos de
quem o viveu, para poder ali captar o sofrimento e as runas. A
exortao seria, ness-dcaso, metodolgicae, em vez de fortalecer o
anacronismo, seria um instrumento para dissolv-lo.
Essas questes de perspectiva se colocam para encarar um
problema que, de toda maneira, persjstir. Simplesmente, hist-
ria no pode cultivar o anacronismo por esolha, pois se trata de
uma contingncia que a golpeia sern interrupes e sustentada
por um processo de enunciao q.r., .o*o se viu, est sempre pre-
sente. Mas acontece que a disciplina histrica sabe que no deve se
instalar comodamente nessa dupla temporalidade de sua escrita e
de seu objeto.Isso a distingue das narraes testemunhais, em que
o presente da enunciao a prpria condio da remernor ao:
suamatriatemporal,assim como o passado aquelamatriatem-
poral que se quer recaptua. As narraes testemunhais sentem-
se confortveis no presente porque aattalidade (poltica,
social,
cultural, biogrfca) q.ue possibilita sua difuso, quando no sua
emergncia. O nc.leo do testemunho a memria; o mesmo no
se poderia dizer da histria
(afirrnar
que precis a fazer histria
como sese recordasse apenas abre uma hiptese).
O testernunho pode se perrnitir o anacronism o,
jque
com-
;B
posto daquilo que um sujeito se permite ou pode lembrar, daqui-
lo que ele esquece, cala intencionalmente, modifica, inventa,
transfere de um tom ou gnero a outro, daquilo
que seus instru-
mentos culturais lhe permitem captar do passado,
que suas idias
atuais lhe indicam que deve ser enfatizadoem funo
de uma ao
poltica ou moral no presente, daquilo que ele tttfizacomo dispo-
sitivo retrico para argumentar, atacar ou defender-se,
daquilo
que conhece por experincia e pelos meios de comunicao, e que
se confunde, depois de um tempo, com sua experincia
etc. etc.la
A,impurezado testemunho uma fonte inesgotvel
de vitali-
dade polmica, mas tambm requer que seu vis no seja esqueci-
do em face do impacto da prirneira pessoa que fala por si e estarn-
pa seu nome como uma reafirmao de suaverdade'
Tnto quanto
as de qualquer outro discurso, as pretenses de verdade do teste-
munho so isto: uma exigncia de prerrogativas. Se no testemunho
o anacronismo mais inevitvetr que em qualquer outro gnero de
histria, isso no obriga a aceitar o inevitvel como nexistente,
queuJizegaesquec-1o
justarnente
porque no possvel elimin-
io. Peio contrrio: pleciso lernbrar a qualidade anactnicaporque
impossvel elirnin-la.
Quando
falo de anacronismo,'' ref,iro-me
ao que Georges
Didi-Huberman chama de
"tiivial",
que no ilumina o passaclo,
mas mostra os lirnites que a distncia impe para sua compreen-
so. Contudo, Didi-F{ube-nan reconhece, diante
da triviaiidade
de remeter qualquer passado ao presente, uma pespectiva da qual
se descobre nos fatos pretritos "uma
assemblagede
anacronismos
sutis, fibra.s de tempo entremeaas, campo aqueolgico
a deci-
f,rar'1tu btresse sentido, o anacronismo nunca poderia
ser totalmen-
te eiiminado, e s uma- viso dominada pela generalizao
abstra-
ia seria capaz deconseguir aplainar as textuas temporais que no
apenas amam o discurso damemria e da histria,
como tarnbm
mostram de que substncia ternporal heterognea
so tecidos os
I
!:,
;;jl&rtir*
(
"fatos'1
Reconhecer isso, porm, no implica que todo relato do
passado se entegue a essa heterogeneidade como a um destino
fatal, mas que trabalhe com ela para alcanar uma reconstruo
inteligvel, ou seja: que saiba com que fibras est construda e,
como se se tratasse da trama de um tecido, que as disponha para
mostrar da melhor maneira o desenho pretendido.
Sem dvida, no um ideal de conhecimento renunciar
densidade de temporalidades diferentes.Isso indicaria apenas um
desejo de simplicidade que no suficiente para recuperar o pas-
sado num impossvel "estado
puro". Corno disse uma vez Althus-
ser, no existe o crnio deVoltaire menino. Mas para pensar o pas-
sado tambm insuficiente a tendncia a colocar a as formas
presentes de uma subjetividade que, sem reivindicar uma diferen-
a,
imagina encontar o "crnio
de Voltaire menino" quando, na
verdade, est dando uma forma inteiramente nova aos objetos
reconstitudos. Para dar um exemplo: nas dcadas de 1960 e l97A
no existia nos movimentos revolucionrios a idia de direitos
humanos. E, se impossvel (e indejvel)_extirp-la do presente,
tampouco possvel projet-ia intacta pafa apassado.
A memria, tal como ternos argumentado, suporta a tenso e
as tentaes do anacronismo. trsso acontece nos testernunhos sobre
os anos 1960 e i970, tanto os oriundos dos protagonistas e escritos
em prirneira pessoa, como os prociuzidos por tcnicas etnogrfi-
cas que utilizarn uma terceira pessoa muito prxima da primeira
(o que em literatura se denomina discurso indireto lvre). Diante
dessa tendncia discursiva seria preciso ter ern conta, em primeiro
luga5 que o passado recordado est perto demais e, por isso, ainda
desempentrra funes poiticas f,ortes no pesente (vejam-se
as
poimicas so--re os projetos de urn rruseu da memria). lm
disso, os que iernbram no esto afasl:ados da iuta poltica contem-
pornea; pelo contrrio, trn fortes e legtimas razesparapartici-
par dea e investir no presente suas opinies sobre o que aconteceu
6a
no fazmuito tempo. 'tro preciso recorrer idia de manipua-
o
para afirmar que as rnemrias se colocam deliberadamente no
cenrio dos conflitos atuais e pretendem atuar nele' Por ltimo'
sobre as dcadas de 1960 e 1 970 existe uma massa de material escri-
to, contemporneo aos fatos
-
folhetos, reportagens, documen-
tos de reunies e congressos, manifestos e programas, cartas,
jor-
nais partidrios e no partidrios
-,
que seguiam ou antecipavam
o correr dos acontecimentos. So fontes ricas, que seria insensato
deixar de lado, pois freqente que digam muito mais que as lem-
branas dos protagonistas ou, pelo menos, as tornem compreens-
veis, j que acescentam a moldura de um esprito de poca' Saber
como pensavam os militantes em 1970, e no limitar-se lembran-
a
que agora eles tm de como eram e agiam, no uma pretenso
reificante da sub'jetividade nem um plano para expuls-la da his-
tria. Significa, apenas, que a "verdade" no resulta da submisso a
uma perspectiva memorialstica que tem limites nem, muito
menos) a suas operaes tticas.
Evidentemente, esses limites afetam, como no poderia dei-
xar de ser', os testemunhos de quem foi vtima das ditaduras; esse
carter, o de vtimas, interpela uma responsabilidade rnoral coleti-
va que no prescreve. No , em contrapartida, uma ordem para
qLre sels testemunhos permaneam subtrados da anlise. At que
outos <iocumentos apaleam
(se que aparecero os que dizem
respeito aos rnilitares, se que se coirseguir reclrperar os que esto
escondidos, se que outros vestgios no foram destrudos), eles
so o ncleo de um conhecimento sobre a represso; alm disso,
tm a textura do vivido em condies e;-'tremas, excepcionais. Por
isso so insubstituveis na reconstituio desses anos. N4as o aten-
tado das ditaduras coiltra o carter sagrado da vida no transfere
esse carter ao discurso testernuirhal sobre aqueles fatos.
Qualquer
reiato da experincia interpretvel.
6t
AS IDIAS E OS FATOS
Das idias que mobilizaram os anos 1960 e 197A, o que resta
nos relatos testemunhais?
A pergunta tem importncia porque aquele perodo foi for-
temente ideolgico, tanto na esquerda como na direita (o pragma-
tismo ainda no atravessara nenhuma das duas). Esse um trao
diferencial, uma qualidade que revela o tom da poca e que se des-
cobre muito depressa quando se lem no s os textos francamen-
te polticos, o que bvio, mas tambm os
jornais
e revistas da
indstria cultural. A televiso no tinha estabelecido uma hege-
monia completa; a imprensa escrita continuava a ser o principal
meio de informao; quem, numa hemeroteca, dedicar duas horas
consuka dos
jornais populares argentinos desse perodo prova-
velmente ficar surpreso, tanto quanto quem verificar que os
Dirios de Ernesto Guevara foram publicados em srie na revista
mais sensacionalista do fim dos anos 1960, na qual dividiram as
pginas corn as notcias policiais *as vedetes do teatro direvista.
No incio dos anos 1970, consumiam-se na
"{,rgentina
rnais
jornais
por habitante do que atualmente q o noticirio televisivo ainda
no havia substitudo o dirio popular vespertino, que oferecia a
seu pblico vriaspgnas de informao sindical, num rnomento
de r adicalizao do sindicalismo.
O clima da poca no se definia apenas por afinidades prag-
mticas ou identificaes afetivas. As ideologias, longe de declinar,
apareciam como sistemas fortes que organizavam experincias e
subjetividades. Foram dcadas ideolgicas, em que o escrito ainda
desempenhava papel importante na discusso poltica, por dois
motivos: d.e um lado, tratava-se da prtica de classes mdias, esco-
larzadas,com dirigentes oriundos da universidade ou de organi-
zaes sindical-polticas onde a batalha de idias era fundamental;
de outro, a maioria da militncia e do ativismo era jovem
e refor-
ava
a cartet ilustrado de franjas importantes dos movirnentos"
t
Acreditava-se qu as velhas lealdades polticas tradicionais
poderiam dissolver-se ou modificar-se, e que as tradies polticas
deviam ser reivindicadas porque sua transformao deolgica as
integraria em novos marcos programticos. Essas operaes no
podiam setrealzadas sem um forte contingente letrado entre os
quadros dirigentes e nos setores intermedirios, e at mesmo na
base das organizaes. O irnaginrio da revoluo era livresco e se
manifestava na insistncia sobre a formao terica dos militantes;
as discusses entre organizaes se alimentavarr de citaes
(obviamente, cortadas e repetidas) de alguns textos fundadores,
que era necessrio conhecer. A poltica desses anos, com diferenas
de periodizao segundo as naes do sul daAmrica, girava tanto
em torno de um texto sagrado, como da vontade revolucionria.
Ou, antes, a vontade revolucionria tinha em sua origem um livro,
como tinha tambm um pas socialista (Cr-rba, Vietn, Cl-rina). A
importncia da
"teoria" (uma verso simplificada para usos prti-
cos), sobretudo no campo rrrarxista, deu carter singularmente
doutrinrio a muitas intervenes polticas, e seria um ero pensar
que isso s acontecia no espao universitrio ou s era protagoni-
zado pelapequena burguesia. at os popuiismos revolucionrios
baseavam sua ao nnm imaginrio cujas fouies eram escritas.
Basta ler as centenas de pginas dos m.oviinentos cristos
raciicais, ern qLle as interpretaes das enccicas e dos Evangelhos
forarn verdadeiros exerccios de secul azao dateologia, influen-
res iro s nas orgatizaes poiticas, coir-lo tarnbm entre muitos
bispos da AmricaLatina." Cruzando-se, tnesciando-se e conta-
rninando-se com as
rlerses
rnarxistas, depenclentistas e naciona-
listas, e na confluncia. corn o peronisrno radical, um relato de ori-
gem crist
-
o iniienarismo
-
produziu uma assa de textos
que, nufi extrerno, integava a "teologia cla libertao" e, em outro,
a teoria da lutaatmada,
jtque
a nova sociedade seria precedida por
rma eiapa de destruio reparadora. O mlenarismo foi proftico
d9{&+".
63
e, atravs de seus profetas, a comear pela palavra de Cristo, suas
legies se reconhecem e se organizam. A profecia chega ao pesen_
te vinda do passado, autorizando a mudanca anunciada nos textos
sagrados. Na Amrica Latina, o cristianismo
revolucionrio
dqs
arros i960 e 1970 marcou o rnomento mais compacto e de maior
penetrao desse discurso. Leu-se a Bbiia na cave terceiro-mun-
ciista e se dimlgaram verses secuiarizadas d.a mensagem evang-
lica. os documentos do Mo'imento dos sacerdotes para o Terceiro
Mundo, a revista cristianismo y Revorncin, a teologia da liberta-
o
do padre peruano Gustavo Gutirrez prepararam
o solo ideo_
lgico em que o milenarismo cristo se encontrou com a radicali-
zao revolucionria.,'
As idias era'r defendidas corno ncieo constitutivo da iden-
tidade poltica, sobrtudo nas faces marxistas do movimento
radcal. A afirmao daprimazaintelectual
no deve'ia ser toma-
da como descrio do que efetivamente acontecia com os sujeitos,
mas como indicao do que devia acontecer. Mas essa indicao
em si mesma era um elemento atir'a reaiidade e incidia na con-
figurao das identidades polticas:
utopia-e uma teoria revolu-
cionria que animasse e guiasse a experincia pressionav a aprti-
ca diria dos movimentos.
Isso no transformou em eruditos
todos os militantes, inas assinaXou um ideal.
{as faces populistas, como foi o peronisrno
revolucionrio
na Argentina, por urn lado se reivindicava uma identidade histri-
ca baseada
'a
irientifcao com uin ider carismtico e se via a
oposio entre eiites letradas e
rovo cono uira linha divisria da
histria nacio'ai, to forte como a que
opu'ha a naoao impe-
riaiismo; por outro, difundia-se essa mesma histria ern verso
escrita, ensastica, liria e apre'dici.a pol i,ilhares de jovens
que
encontravam em alguns autores "nacionais"
e na teoria da depen-
dncia cle Cardoso e Faletto as chaves para execet:) ao mesmo
iefiIro, uff antiintelectualisrno
hisio'icista e uma formaco livres-
64
ca natradio de lutas nacionais que os velhos setores popuiares
no tinham aprendido nos livros, mas que os recm-chegados
ac,
movimento deviam aprender neles. o debate sobre a natureza dcr
peronismo foi claramente ideolgico e marcado por intervener;
intelectuais e acadmicas.'e
os caminhos da revoluo (as "vias"),
as foras sociais que sl
aliavam ou se opunham em seu trajeto (as
frentes, a direo, as eta-
pas, as tarefas, segundo o vocabulrio
da poca) e o tipo de or ganiza-
o
(partido,
movimento, exrcito revolucionrio,
e suas respectivas;
cluas, formaes, hierarquias, comunicao
e compartimentao)
tambm eram captulos doutrinrios fundamentais
e objeto cle
debate no s na imprensa partidria.2o
A emergncia da guerrilha
motivou, no caso argentino, revis-
tas e semanrios do mercado a colocarem essa discusso, de longa
tradio no movimento comunista e socialista, disposio de,
seus leitores. o vazamento de temas da teoria revolucion riapara
a imprensa de informao geral,que se verifica quando se exami-
'am
jornais
da poca, marca tambm um processo de difuso pare
as classes mdias, que no necessariarnente
se incluairr nas orga_
nizaes. As vanguardas polticas desse perodo participaram
de
um movimento mais amplo de renovao cultural qlle acompa-
nhou os processos de modernizao socioeconmica
da dcada de
l970.Asmudanas
culturais e nos costumes foram impulsionadas
porumageao
que deixou suafiarcatambm
no jornalismo,
em
novas formas de vida e nas vanguardas
estticas.
t
Tlrdo isso sabido. Pois bem, se o perodo foi ce'rio de urna
irnportante guinada nas idias, que no se vilreu apenas
'o
"est-
gio prtico", mas sob formas discursivas, textuais, lirrrescas; se c
imaginrio potrtico,longe de se confgurar contra o erudito, recor-
ria a uma cultura ilustrada para articular impulsos, necessidades e
cenas; se o mito revoucionrio
se sustentou nurna histria escri_
ta e num debate que j tinha atravessado
boa parte do sculo >it, o
O)
I
t
que se pergunta : quanto do peso e da reverberao das idias res-
tou nas narraes testemunhais, ou melhor, que sacriftcio do sem-
blante intelectual e ideolgico do movimento poltico-social se
impe na narrao em primeira pessoa de uma subjetividade da
poca?
Quanto
subsiste desse teor ideolgico da vida poltica nas
narraes da subjetividade?" Ou, caso se prefira, qual o gnero
histrico mais afim com a reconstituio de uma poca como
aquela?
No se trata de discutir os direitos da expresso da subjetivi-
dade. O que quero dzer emais simples: a subjetividade histrica
e, se acreditamos possvel tornar a capt-la em uma narrao, seu
diferencial que vale. Uma utopia revolucionria carregada de
idias recebe um tratamento injusto se apresentada s ou funda-
mentalmente como dama ps-moderno dos seus partidrios.
CONTRA UM MITO DA MEMRIA
* :i-
Paolo Rossi escreve que, depois.d" Rouieau, "o passado ser
concebido como sempe'reconstituo'e organizado sobre a base
de uma coerncia imaginria. O passado imaginado torna-se um
problema no s para a psicologia, mas tambm (e
se deveria dizer
sobretudo) pata a historiografia
[.
..] A memria, como se disse,
'coloniza'o
passado e o organizana base das concepes e emoes
do presente'l" A citao vai ao cerne de meu argurnento. A narta-
o
d sentido ao passado, mas s se, como assinalouArendt, a ima-
ginaoviaja, se solta de seu imediatismo identitrio; todos os pro-
blemas da experincia (se
se admite que h experincia) abrem-se
numa atualidade que oscila entre sustentar a crise da subjetivida-
de em um mundo midiatizado e a persistn cia da subjetividade
como uma espcie de artesanato de resistncia.
Seja como for, se no se pratica um ceticismo radical e admi-
66
te-se a possibilidade de uma reconstituio do passado, abrem-se as
vias da subjetividade rememorativa e de umahistria sensvel a ela,
mas que se distingue conceitual e metodologicamente de suas nar-
raes. Essa histria, como assinala Rossi, vive sob a presso de uma
memria
(realizando, de modo extremor o que Benjamin solicitara
como refutao do positivismo reificante) que reclama as prerro-
gativas de proximidade e perspectiva; a essas prerrogativas talvez a
memria tenha direitos morais, mas no outros. Os discursos da
memria, to impregnados de ideologias como os da histria, no
se submetem, como os da disciplina histrica) a um controle que
ocora numa esfera pblica separada da subjetividade.
A memria tem tanto interesse no presente quanto a histria
ou a arte, mas de modo distinto. Mesmo nesses anos, quando j
se
exerceu at as ltimas conseqncias a crtica da idia de verdade,
as narraes de memria parecem oferecer uma autenticidade da
qual estamos acostumados a desconfiar radicalmente. No caso das
memrias da represso, a suspenso dessa desconfiana teve causas
morais,
jurdicas e polticas. O importante no era compreender o
mundo das vtimas, mas conseguir a condenao dos culpados.
Mas quem est comprometido nurna luta pelo esclarecimen-
to dos desaparecirnentos, assassinatos e torturas difcilmente vai
limitar-se, depois de duas dcadas de transio democrtica, a
estabelecer o sentido
jurdico de sua prtica. As organizaes cle
direitos humanos politizaram o discurso porque foi inevitvel que
procurassern um sentido substancial nas aes dos militantes qre
sofreram o terrorismo de Estado. C Nunca mais parece, ento,
insufciente e pede-se no s
jr,rstia, mas tarnbm um reconheci-
mento positivo das aes das vtimas.
Entende-se o sentido moral dessa reivindicao. Mas, como
isso se transforma numa interpretao da histria (e deixa de ser
apenas um fato de memria), custa admitir que ela se tnantenha
alheia ao princpio crtico que se exerce sobre a histria.
Quando
6Z
"1*
I
1
uma narrao memorialstica concorre com a histria e apia sua
exigncia nos privilgios de uma subjetividade que seria sua
garantia (como
se pudssemos voltar a crer em algum que sim-
plesmente diz:"Falo a verdade do que aconteceu comigo ou do que
vi que acontecia, do que fiquei sabendo que aconteceu com meu
amigo, meu irmo"), ela se coloca, pelo exerccio de uma imagin-
ria autenticidade testemunhal, numa espcie de limbo interpre-
tativo.
4"
Experincia e argurnentao
Existem outras maneiras de trabalhar a experincia. Alguns
textos partilham com a literatura e as cincias sociais as precaues
diante de uma empiria que no tenha sido construda como pro-
blema; e desconfiam da sinceridade e da verdade da primeira pes-
soa como produto direto de um relato. Recorrem a uma modalida -
de argumentativa porque no acreditam de todo no fato de que c
vivido se torne simplesrnente visvel, como se pudesse fluir de urna
nanao que acumula detalhes no modo realista-romntico. So
textos raros e me refro a dois: "La bemba", de Emilio de poia, e
Poder y fls5sparicin: Los campos de concentracin en Argentina, e
Piiar Calveiro.
'
Eies pressupem leitores que buscam explicaes no apoi:r-
das apenas no pedido de verdade do testemunho, nem no impacto
moral das condies que colocaram algum na situao de ser tes-
temunha ou vtirna, nem na identificao. Fressupem autorils
que no pensam que a experincia confere diretamente uila intc-
leco dos elernentos que a compem, como se se tratasse de uirra
espcie de dolorosa compensao do sofrimento. Contra a idia
8
69
exposta porArendt, de que sobre certos fatos extremos s poss-
vel uma reconstituio narrativa, reservam-se o direito, que Arendt
tambm fez seu, de buscar princpios explicativos alm da expe-
rincia, na imaginao sociolgica ou histrica. Afastam-se de
uma reconstituiao s narrativa e da simples noo consoladora de
que a experincia por sis produz conhecimento.
Calveiro e pola escolheram procedimentos expositivos que
implicam um distanciarnento dos
"fatos".
Em primeiro lugar, no
privilegiam aprimeirapessoa do relato nem do umaposio espe-
cial subjetividade daquele que o enuncia; as remisses tericas e a
perspectiva exterior ao material so to importantes quanto as refe-
rncias empricas; a visualizao da experincia se sustenta num
momento analtico, num esquema ideal anterior narrao. Em
segundo lugar, a experina submetida a um controle epistemo-
lgico que, claro, no surge dela, mas das regras da arte pratica-
das pela histria e pelas cincias sociais. A perspectiva fortemen-
te intelectual e define te)ios que buscam um conhecimento, antes
de um testemunho. Diferentes em quase todos os aspectos, tanto
pola como Calveiro se separam do discurso memorialstico ao
aceitar restries no uso da primeira pesioa, da anedota, d anarra-
o
de forte linha argumental, do sentimentalismo, da invectiva e
dos tropos.
Por isso, trata-se de textos excepcionais, no simplesmente
emtermos de qualidade intelectual, mas tambm porque exigiram
autores previamente exercitados
(Emilio de pola) ou decididos a
se exercitar para a escrita e parc as funes que esta cumpriria
(Pilar Calveiro).' Como se pudessem pr provisoriamente em sus-
penso o fato de terem sido vtimas em termos diretos e pessoais da
represso, ambos escrevem com conhecimento disciplinar, ten-
tando se ater s condies metodolgicas desse saber.
|ustamente
por isso mantm uma distnciaexataem relao experincia de
seusprprios sofrimentos.Tmbmporisso no so os textos mais
70
difundidos. De toda maneira, o livro de Calveiro foi amplamente
discutido, ao passo que o artigo de pola est esquecido, como que
escondido em outra dobra do tempo.
TEORIA DO RUMOR CARCERRIO
Aprimeiraverso de
"Labemba"'foi escrita em maio de 1978,
quando Emilio de pola praticamente saa da priso onde estivera
preso quase dois anos.'Foi um desafio; ele procurou prova que o
autor continuava a ser um cientista social, algum que no perde-
ra seus conhecimentos e podia continuar a exerc-los. pola quis
recuperar um passado universitrio e empega suas capacidades,
demonstrando que a priso no havia conseguido anular as habi-
lidades adquiridas numa poca anterior represso. O texto pe
em cena um drama da identidade s na medida em que produto
da reapropriao de um capital intelectual ctjautilizao no se
limita defesa de uma primeira pessoa narrativa. pola escreve da
posio de quem analisa seus materiais, no de quem quer teste-
munhar como vtima ou denunciador.
Na
"Introduo" do volume em que se inclui
"La bemba", um
texto hiperterico, com grande afinidade com os que poia escre-
veu no incio dos anos 1980, chama ateno que o estudo seja
caratetizado
"simptresmente corno um testemunho e tambrn
como ufia espcie de matria-prima para elaboraes ulteriores
(nossas ou de outros)". A condescendncia com que, em 1983'
pola julga seu artigo pode expiicar-se de duas maneiras: h' de urn
lado, a modstia de um autor que preferiria evital as objees dis-
ciplinares que seu afigo poderia evoca em futuros leitores
(fun-
o
convencional de uma introduo, em que a captatil benevolen-
tiaprocura antecipar crticas); mas, de outro lado, tambrn
possvel aceitar essa modstia como prpria de um primeiro rno-
, ,
7I
mento dos textos sobre a represso e avioincia de Estado, quando
ainda no se podia saber que o testemunho ia ser hegemnico, dei-
xando de lado outas perspectivas sobre os fatos. pola diz que seu
texto (como
Levi afirma do dele) uma "matria-prima
I Natural-
rrer1te, quando escreveu "La bemba" ele no podia conhecer os tex-
tos futuros nem ter idia de quais seriam o tom e a retrica com que
ir lteratura testemunhal apresentaria sua "matria-prima".
No
crrtanto, a"Introduo" deixa supor que o ter-to comecoua ser escri-
to na cadeia, "cumprindo
o papel prprio aos'intelectuais'na pri-
sio
[...],
isto , o de se constiturem em analistas e comentadores,
rrrrris que em produto res de bembas'1o Nessa diviso entre produ-
l o l c analista se apia todo o trabalho e tambrn minha leitura.
Na "Introduo']
pola examina no s as noes de verossi-
rrr ilhana do rumor (bemba)
com aquelas ern que o artigo trabalha
cxplicitamente, mas, julgando
insuficiente a perspectiva terca
inicial, desenvolve "algo
que
[...]
apenas insinuado: o processo de
produo-circulao das bembastern ulr-a clara analogia cono
que a psicanlise chama de'elaborao secund.rja'. Do mesmo
nrodo que o paciente, na n arrao de um s.onho, tende a apagar seu
aParente absurdo, preenchendo os brancos e construindo um rela-
to contnuo e coeente, o trabaho das bentbas consiste em elimi-
rar pogessivarnente os absurd.os aparentes ('duas
mil liberda-
cles!') de uma pr-rrerso inicial, para ir dando forma, por esse
caminho, a uma verso aceitvel: verossmil". A "Introduo"
salienta, na.rerclade, que o artigo no foi suficientemente terico
ou que, clentro do espao terico, no acentuou uffra dimenso
que, no momento de public-lo ein livro, interessa eirl especial a
pola; a psicanaltica. Ern srima, a rntrocuo de 1983 valta a"La
*
Bentba,discursos fragmentrios, i'umores. A origem da palavra seriam as rad,io-
bembas, os boatos que circularram de boca em boca antes da Revoiuo Cubana.
(N.r.)
11
bemba" com a desculpa de que um texto preso demais a um
momento descritivo da experincia. pola exige mais dele. Os lei-
tores, daquela poca e de hoje, tm a impresso contrria: trata-se
de um texto fortemente inspirado em teorias, em que a experin-
cia da priso construda como objeto (terico, como se diria nos
anos 1980) que permite o estudo do rumor e das condies carce-
rrias que possibilitam sua difuso e sustentam suaverossimilhan-
a.
O que pola considera, em 1983, muito prximo ao testemunho
, comparado com qualquetestemunho realmente existente, uma
sofisticada anlise em que o eu da testemunha nunca aparece, nem
iresmo como lugar importante de enunciao.
O rumor um tema caracterstico da semiologia e da teoria
da comunicao, disciplinas de vanguarda nos anos i 960 e 1970, s
quais pola chegava a partir de uma formao filosfica e social.
Emboraincorpore outras influncias,"Labemba"se apia em dois
textos caractersticos da poca: Internados, de Goffman, sobe o
sanatrio psiquitrico como instituio total (e, por conseguinte,
como espelho da priso)
,
e Vigiar e punir, de Foucault (embora o
umo seja uma fissura no controle absoluto). Mas, citados na
bibliografia, os trabalhos sobre semiologia e ideologia so tambm
um quadro deniro do qual as noes vindas do campo da comuni-
cao se crzam com as do marxismo estruturalista. Esse era unl
dos ncleos de uinanova semiologia, com outravertente que che-
gava da antropologia estrutural de Lvi-Strauss. Menciono esses
nomes e a que era ento a Teoria (Althusser dominava cr espao
marxista) no simplesmente para reconstituir as fontes tericas de
"La bemba", mas para assinalar de que modo o texto corresponde
a um espr'ito de poca inarxista-estruturaLista e semiolgico, cujo
denso aparelho terico opera coino defesa diante de qualquer ver-
so ingnua e "realista" da experincia.
Dessa exper inca carcerria, pola analis a s unt aspecto ca
dimenso cornunicativa da virla cotidiana. C
"objeto terico" (pro-
73
duto de uma const:uo,
e no da experincia, porque esta no
uma rvore de onde se pode arrancar um fruto) vem de um saber
anterior priso: pola conhecia os estudos semiolgic os antes de
ser preso e, por isso, no escolhe um aspecto qualquer de sua expe_
rincia, mas justamente
aquele para o qual pensa estar preparado e
que interessante
em termos tericos. Em sntese, pola tinha os
instrumentos
analticos para escutar "cientifcarnente"
a bemba.
No se fecha em sua experincia,
mas a analisa como se
fo
sse a exp e_
, rincia de outro,colocando-se
no extremo oposto do testemunho,
embora sua matria-prima
seja testemunhal.
O que mais chama ateno em sua estratgia expositiva
_
algo que no se repete em nenhumdos textos escritos nas ltimas
dcadas
-
que ele divide a matria do artigo registrando
sua
experincia de priso erfi notas de p de pgina, ostensivamente
fora do copo principa do texto em que ocorrem as operaes
scio-semiolgicas,
as anlises e as hipteses. A experincia
em
nota de p de pgina e letra mida uma base emprica indispen_
svel, mas mostrada em corpo rrrnor.*o
pola descreve aspectos da produo, .irJ.riuao e recepo
do rumor carcerrio, comparando
esies trs momentos com o
esquema analgico
da produo e circuao de mercadorias
mediante o qual, em fins dos anos 1960, alguns semilogos tradu_
ziam o modelo clssico de Roman
Jakobson. o circuito comunica-
cional da bembaapresenta
anomalias no vnculo entre produo,
circulao e recepo das mensagens porque no uma produo
coinunicativa em condies normais, e, por conseguinte, a relao
entre os trs momentos est distorcida peia escassez de informao
confivel, verossmil ouverdadeira,
pelas dificuldades materiais da
comunicao e pela forte presso de um tema (o
da liberdade ou a
transferncia) que, se anuncia mudanas, pode entorpecer
ou des_
truir as prprias condies de circulao das mensagens.
O carter excepcional
do meio onde se produz a comunicao
a
confere s mensagens traos que no se atm ao modelo tripartite
em que a produo (como na produo de mercadorias) define a
difuso e a recepo. pola fora (exagera) o carter analgico do
modelo comunicacional inspirado no modelo econmico, che-
gando s raias do desmedido, como ao citar O capitalpara definir
o processo de circulao dabembacomo parte de seu processo de
produo: "Em certo sentido, caberia dizer do'trabalho' das bem-
basalgo muito parecido com o que Marx (O capitalvol.2) afirma
sobre o transporte de mercadorias, isto , que esse trabalho se
manifesta como'a continuao de um pocesso deproduo den-
tro do processo de circulao epara este"'. Seria possvel ler nessa
citao de Marx uma perspectiva irnica se ela no estivesse em
total sintonia com os esforos realizados ento por semilogos e
marxistas que sublinhavam a subordinao de todo processo
social sob o capitalismo s condies definidas pelo trabalho assa-
lariado na produo de mercadorias.
Por sua excepcionalidacle, a bemba no corresponde ao
modelo que, numa conjuntura terica de modelos fortes, impiica
levar em conta uma fo raa.pola analisa a partir desses rnodelos
fortes e, por conseguinte, a bembalhe apresenta problemas a resol-
ver. O rumor carcerro uma instncia de prova das possibilida-
des dateoria porque diferente de todas as outras mensagens, mas
ao mesmo tempo descrito naquilo que corresponde e naquiio
que se clesvia de suas regras. isso justamente que permite desco-
brir em que consiste sua excepcionalidade, ou seja, a persistncia
da comunicao num espao de proibies quase totais, Para con-
siderar essa excepcionalidade, pola no toma o carninho clo estu-
do etnogrfico da inventiva dos presos; nada est mais distante cle
sua perspectiva do que uma reconstituio que coloque no centro
os sujeitos. Antes, no centlo eie coloca uma estrutura de relaes
exposta conceitualmente. No estuda os presos escutando ou
espalhando rumoes) mas as condies em que estes conseguem
75
t-.
-!,
significar alguma coisa. E interessam-lhe particularmente
os pes-
supostos da verossimiihana do rumor. com sua anlise ele no
quer provar que sempre, em todas as condies, uma pequena
sociedade consegue alcancar um pequeno mas significativo obje-
tivo, e sim que a bemba altera as seqncias normais da circulao
de mensagens de um modo que a teoria ser obrigada a considerar.
Trata-se do estudo de uma exceo comunicacional, no simples_
mente de uma experincia comunicativa.
pola caract eriza apriso como um espao em que
.,a
qual-
quer rnomento pode acontecer qualquer coisa". Essa indetermina_
o
do esperado ery termos cornunicativos urna marca impos-
ta pelo poder carcerrio para que os sujeitos vivam num regime
semiolgico de escassez. A qualquer momento pode acontecer
qualquer coisa por doimotivos: a fragmentao dainformao
que chega de fora, distorcida por redes de difuso fracas ou amea_
cadas, e a escassez de mensagens que podem se produzir dentro,
agravada por um regime de proibi-es fortes mas oscilanteS, to_
do-poderosas e, ao mesmo tempo, instaveis.
e_.rumor
a respos-
ta escassez e indefinio das condies cornunicativas.
Como resposta a uma proibio sa uma escassez, abembase
caracterza
llor
seu "nomadismc'1
A rnensagem no se estabiliza
era lugar nenhum nem pocle ser armazenada ein nenhurn registro
de i'emria. Se no circutrar-, fiorre. A diferena das rnensagens
"normals",
abembasenlpre
sobrepe a produo e a difuso, por_
qr-re no h bembas guardadas pelos sujeitos, como eies podem
guardar as lrensagens subtradas dc circuito comunicativo. Fora
deste, a, ltentba'o existe. E, assim como no pode ser guardada
como contercio de rnemria, essa prpria impossibilidade garan-
te que os temas da bemba (mas
no as mensagens) possam se repe_
tir sem que se esgote seu interesse, cliiereiateilente do que accnte-
ce en: condies "ilOrmais",
em qr-le a r epetia afeta o interesse por
d,esgaste da novidade informativa.
Z6
Naturalmente, o grande tema da bembaso as liberdades, os
indultos e as transferncias. O espao carcerrto de sua produo
define cruanente o elenco de argumentos; e, como as bembas
nunca se concretizam, o carter desses agumentos faz com que
todas as mensagens com os mesmos temas devam ser esquecidas
para dar lugar a novas mensagens com os mesmos temas, que mais
uma vez sero esquecidas. Sem esse crculo em que o novo apaga o
anterior, desde o incio o rumor estaria marcado pelo descrdito.
Lbemba, basicamente, uma promessa de futuro que enveihece e
more no mesmo dia, para dar lugar a outra promessa idntica,
mas fraseada com variaes argumentais obrigatrias.
pola se interroga sobre as condies de verossimilhana e as
bases da crena, e, ao faz.-lq processa de modo analtico e inter-
pretativo a circulao de rumores que ele enfrentou como preso.
Em seu estudo, o vivido de uma experincia se faz presente s
nurra confgurao descritiva que corresponde a normas discipli-
nares. Por exemplo, quando, em agosto de I97 6,seespalha a bemba
ctra libertao de 2 rnil presos, pola analisa como o exagero, o car-
ter "imoderado" desse umor impediu que se acreditasse nele. Na
"Introduo'l ele volta a essa regra da moderao, que lhe parece
uma chave para explicar a verossimilhana do rumor. Mas a iejei-
o
de trma bentba que comunica uma transferncia em massa
exige explica,o diferente: assim como se desconfia das bembas
otimisias demais, no se acredita naquelas de negatividade exage-
rada, que excluem qualquer esperana.
Nessa recusa, pola obsen'a aigo mais importante: uma trans-
ferncia em rnassa destruiria as prprias condies de circulao
de qualquer beml:a,porqlre sua difuso s possvel entre pessoas
muito conhecidas. Portanto, a resistncia em aceitar um lumor de
transferncia vem clo fato de que ele ameaa o circuito e as condi-
es
de produo comunicativa. A observao faz pensar que o cir-
cuito comunicativo se preserva alm do desejo dos sujeitos qr,re
77
nele intervm. Abemba o "grau zero" daresistncia ao processo
de desinformao carcerria. Nesse grau zero,'(essas pobres miga-
lhas de informao" devem esta sempre inscritas na lgica de seu
processo de produo e circulao, porque ali tambm alcanam
um grau deverossimilhana que evita suatransformao em men-
sagens frustradas, completamente descartveis, na medida em que
contradizem tanto as expectativas da recepo como as condies
em que devern ser produzidas e difundidas.
No papel de socilogo da priso, pola afirma que a recepo
dabembadepende das categorias de presos que a escutam e difun-
dem. A cena no umor est ligada s qualidades e habilidades
intelectuais de seus receptores, que pola define, na estrutura da
sociedade carcerria, recorrendo a uma tipologia sociolgica
orgamizadacom incisidentificado s de aa fr: membros orgni-
cos de partidos de esquerda ou revolucionrios; sindicalistas de
alto nvel e delegados sindicais mdios; profssionais e intelectuais
de esquerda sem militncia; membros do governo peronistdder-
rnbado; simpatizantes distantes; e garrones, que
ele descreve co-
mo reveladores da verdade do sofrimento carcerrio, na medida
em que no podem, ao menos em princpi o,dar razonem expli-
ca em termos polticos o que lhes coube sofrer; o garrn , para
poa, uma condensao da priso, e ele dedica uma extensa nota
a suas diversas categorias e procedncias (digamos que o garrn
evoca, sem a mesma tragicidade, a figura do "muulmano" nos
testemunhos de Plimo Levi). A tipologia da sociedad e carcerria
no s exibe seu pretendido efeito de cientificidade, mas corrobo-
ra) como outros recursos do texto, a distncia que pola quer man-
ter da lembrana de sua experincia. Mais que reviv-la, ele pro-
cura imprimir-lhe as categorias e a rctrca expositiva de uma
disciplina que permita pens-ia em termos gerais, extraindo-a da
esfera do imediatismo e da sensibilidade para p-la na esfera inte-
lectual.
l8
Lcaracletzao
das relaes entre setores da populao car-
cerrrae seus guardas expica de algum modo por que pola pode
fazer esse trabalho sobre a experincia
sem se submeter
a ela' Os
carcereiros
reconhecem
que o preso poltico tem um conhecimen-
to, geralmente
poltico, que eies no conseguem
extrair
(ao contr-
rio da informao,
que pode ser extradasob
tortura)' um conhe-
cimento aprendido
nos livros, que no se perde e sobre o qual pola
funda sua identidade
ao sair da priso' Livre' no se considera um
ex-preso
da ditadura'
mas um intelectual
que esteve preso'
"La
bemba" apresenta os fundamentos
desse saber nas fontes tericas
e socioliicas,
citadas com uma abundncia
que remete no s
sua necessidade
conceitual,
mas tambm a essa definio identit-
ria: lembram
as armas do preso poltico diante de seus carcereiros'
A teoria ilumina a experincia'
O ensaio de pola se constri
com essa convico,
especialmente
em sintonia com o lugar ocupa-
do pela teoria no marxismo
estruturalista'
na antropologia
estru-
tural, na semiologia,
em que as crenas no so umabase
de apoio
confivel,
porque nunca esto livres da falsidade da ideologia' cuja
contarrrinao
s pode ser dissipada po Lrma interveno
apoiada
no conhecimento'
Por isso a experincia
pessoalno
faz parte do
corpo do texto, lrtas est onde lhe cabe' nas notas de p de pagina'
como
"matria-prima"
da anlise' O espao da pgina aPresenta
grafcamente
a hierarquia
que subordina
a experincia
ao conheci-
L"nto. E a primeira
pessoa no tem outro privilgio alm do que
ganha pela sofsticao
de sua capacidade
analtica"'La
bemba"
inverte arelaoque
cal acter izalanto o testemunho
como o que se
escreve sobre ele. A experincia
se mede pela teoria que pode expii-
c-la,aexperincia
no rememorada'
mas analisada'
Examinando
o artigo de Emilio de ipola' no parece estranho
que tenha sido esquecido
como texto que apresenta a experincia
carcerriadurante
a ditadura' Suas qualiciades
so singularmente
alheiasmassatestemunhaleshistriaspessoaisecoletivassobre
79
o peroclo, porque se opem a um modelo de reconstituio e
denncia que se imps nas ltimas duas dcadas. Marcado pela
teoria do comeo dos anos 1970, singular pela perspic cia anaLiti-
ca, "La bemba" no pode ser recuperado pelo movimento de reme-,
rnorao que coloca no centro a subjetividade confrontada com o
terrorismo de Estado. O ensaio quer ser algo mais e algo menos que
isso; por excesso ou falta, fcou invisvel.
A EXPERNCIA DE OUTROS
Publicado em 1998, Poder y desaparicin: Los campos de con-
centracin en Argentina, de Piar Calveiro, a sntese de uma tese de
doutorado apresentda no Mxico,n Pilar Caiveiro foi uma prisio-
neira que fcou desaparecida durante um ano e meio, em1977,na
4anso Ser; na delegacia de Castelar; na ex-casa de Massera etn
Panamericana e Thames) e na EscqJa de Mecnica da Mrinha
(esu.+.).
O livro corea com uma caracterizao da violncia de
Estado, parapolicial, parapoltica e guerrilheira durante o goveno
peronista derrubaclo em 1976. As hipteses apresentam uma chave
irstrica conhecida: a primeira intervenco do Exrcito em 1930 e
as sucessivas alianas entre partidos polticos, eltes socioecon-
rnicas e Foras Armadas demonstrariam qr.le os goipes de Estado
foi"am o produto de segr-licios enconiros de interesses, impulsos
inrtuos e coluso de faces. Aqui n o h nada que se afaste de uma
eitura da histria que cleixori para tr's a idia cla existncia de uma
sociedacie lnocente, vtima sern responsabilidade nas intervenes
railitares. C alcance interpretaiiiro do iivro tambrn se estende
slla iese so-bre a ciitadura em i.97 6.
Calveiro aftttnaque o
"campo de concentrao"
(cle tortura e
desaparecimento) "uma crao perifrica e inodular ao rnesmo
8o
tempo", possibilitada pela forma de poder inerente s Foras
Armadas, com o estilo da disciplina, a obedincia e a burocratiza-
o
implcita na rotina miiitar. O excesso seria
"a
verdadeira norna
de um poder desaparecedor". Tambm sugere a presena de uma
matriz concentracionria na sociedade argentina, idia que, ao
tipificar uma reiterao histrica, uma espcie de constante que
supera as diferenas, discutvel, porque a originalidade do regi-
me do campo,
justarnente demonstrada por Calveiro, rejeita a
hiptese de uma reiterao comvariantes. Se Calveiro temrazo,o
campo uma inveno to nova corno a figura do desaparecido
que deriva de sua existncia. F.ntre
represso e desaparecimento,
entre regime carcerrio e regime concentracionrio h distines
que impedem pensar a persistncia de urna matriz.A descrio
analtica de Calveiro serve para provar isso.
Diante das Foras Armadas, as formaes guerrilheiras so
"quase a condio sine qua non dos movimentos radicais cla
pocd'. Reconhecida por muitos no como uma opo equivoca-
da, mas como
"a
expresso mxima da poltica, primeiro, e a pr-
pria poltica, mais tarde", a guerrilha comeou a "reproduzir em
seu interior, pelo menos em pate, o poder autoritrio que tentava
questionar". Caiveiro avalia de forma diferenciada os Montoneros
e o Exrcito Revolucionrio do Fovo (snp) quando assinala que
Roberto Santucho, lder do Eru, em julh
o de 1976, pouco antes re
sua morte, afilmou que o principal equvoco dessa formao
armada foi
"no
ter lecuado" e ter menosprezaclo seu isolamento
,
do "movimento de rrrassas"; a estratgia montonera, eir corrpen-
sao,fezprevalecer
"uma Lgica revolucionria contra todo sen-
tido de realidade, partindo, como premissa inqr-restionr'el, da cer-
teza absouta do triunfo". For um lado, a guerrilha era a fotma
principal dapaliticarerroiucionria no corneo da dcada de l97A
e, por sso, no poderia ser avaliada siinplesmente coirlo uirr ater-
que deloucura coletiva; po outro, as duas principais organizaoes
81
guerrilheiras mantiveram com sua prtica uma relao que Cal-
veiro (ex-militante
montonera) acredita necessrio diferenciar,
por motivos queveremos em seguida.
Quanto
guerrilha e a suas organizaes de superfcie,.
Calveiro se afasta do senso comum elaborado durante os primei-
ros anos da ditadura, persistente at hoje, de que o destino que
coube aos desaparecidos se deu de modo casual. Em contraparti-
da, Calveiro afirma que amaioria deles era de militantes ou envol-
vidos perifricos; a represso, o desaparecimento ou a tortura de
parentes, vizinhos e testemunhas no fazem parte da lei geral do
sistema desaparecedor. Mas sua incluso fortalecia a idia de que
"qualquer
um podia cair", e assim se consolidava o regime de ter-
ror. Ao estabelecer essa diferena com o discurso mais difundido,
Calveiro se desvinculadesse senso comum cuja funo nos anos da
ditadura aindahoje deve ser avaliada, na medida em que, ao se afir-
mar que o acaso era lei geral, as conseqncias podiam ser to des-
mobilizadoras como a acusao de arbitrariedade total que caa
sobre os repressores. A anlise de lveiro mais complexa: na
medida ern que os centros de tortura e"*ort"
fdiam
ser eventual-
mente vistos) como era o caso daquele'daAeronutica, que funcio-
nava num hospital, ou das entradas e sadas ostensivas de uma
delegacia, a comprovao de que as "histrias"
sobre a represso
encontravam provas parciais nos aspectos visveis da mquina
repressora reforava o terror social.
Essas teses crticas no so, porm, o que mais impressiona no
livro de Calveiro. Elas implicam, claro, um julgamento sobre as
organizaes guerrilheiras, e tambm urna idia do carter
da
represso militar, a urn s tempo novo e apoiado numa histria.
O
que seu livro ttaz coma interpretao central no o que est sin-
tetizado at aqui, mas sua anlise do campo de concentrao.
Ali, sua experincia como prisioneira torna possvei o rnane-
jo de outros testemunhos, entre os quais sua experincia est silen-
8z
ciosamente presente (o leitor sabe) e ao mesmo tempo elidida.
Calando a primeira pessoa para trabalhar sobre testemunhos
alheios, a partft de uma distncia descritiva e interpretativa,
Calveiro se situa num lugar excepcional entre os que sofreram a
represso e se propuseam a represent-la. A verdade do texto se
desvincula da experincia direta de quem o escreve, que indaga na
experincia aiheia aquilo que poderia imaginar que sua prpria
experincia lhe ensinou. Por isso, o texto no exerce uma presso
moral particular sobre o leitor, que sabe que Calveiro foi uma
presa-desaparecida, mas sobre aqueie de quem no se exige uma
crena baseada em sua prpria histria, e sim nas histrias de
outos, que ela retoma como fonte e, portanto, submete a oper-
es
interpretativas. Calveiro est se referindo a fatos excepcionais;
mas no exige que ningum acredite neles s pela carga de sofri-
mento humano que (lhe) produziram, e sim pelo dispositivo inte-
lectual que os incorpora a seu texto. A leitura iivre porque
Calveiro no se apresenta como prova do que foi dito, embora se
saiba que sua vida parte dessa prova. A diferena essencial:
algum investiga o que aconteceu com outros (embora
exatamen-
te isso the tenha acontecido). Por outro lado, as hipteses de
Calveiro, por no estalem apoiadas unicamente em sua experin-
cia de tormento, podem ser discutidas.
Como a primeira pesso se apaga,a obra de Calveiro proclrra
legitimidade no na persuaso nem em motivos biogrfcos, mas
intelectuais. claro que, provavelmente, o livro no teria sido
escrito se no tivessem existido razes biogrficas, mas essa sim-
ples comprovao vale para muitos livros de teinas bastante dife-
rentes. A biografa est na origem, mas no no modo expositivo,
nem na retrica, nem no aparato de captao mora do leitor.
Assim, o que singularmente original no iivro de Calveiro a
deciso
de prescindir de uma narrao da experincia pessoal
como prova de seu argumento. Trata-se de uma negativa explcita.
8t
Depois de anos de publicao de testemunhos, Calveio' que pos-
sui os mesmos materiais vividos que os autores de narraes em
primeira pessoa) opta por se separar do relato de suaexperincia,
con o objetivo de ansformat a exper,ncia concentraciontia
argentina em objeto de hipteses interpretativas. Nessa escolha
expositiva as idias no aparentam surgir do prprio solo do vivi-
do. Calveiro se props a ser uma cientista social que tambmfoi
uma desaparecida; por isso, transformou-se no que no ela antes
de sofrer a represso e tornou-se cientista sacialporquefoi desapa-
recida. O livro no prolonga no presente sua identidade de tima.
Emvez de reparar o tecido de sua experincia, ela se esfora em
entend-ia em termos que no dependam exclusivamente do seu
vivido. Pol isso a argument ao emais forte e extensa do que a nar-
rao sobre a quai se api e da qual parte. Do ponto de vista moral
e poltico, ela faia como cidad, no como ex-militante presa e tor-
turada. Seu direito ven de algo universal, e no de uma circunstn-
cia terrvel.
::
Alguns exemplos so muito evi.dentes. Calvei.o afirma que os
desaparecedores se imaginam deuses, corn poder absoluto de vida
e inorte. Essa conscincia onipotente dos qu detinham o poder de
deciso nesse mbito explica a. clera que seniiam <iiante do suic-
dio ou da tentativa de sr-ricdio cle um peso, que, por esse camnho
definitivo, tentava escapa lgica totaX em que fora includo. Ao
apresental essas iripteses, Calveino no menciona slla prpria
tentativa de fuga, que foi interpretada coino suicdio e despertou
uma srie feroz de represlias. isso que ela diz a
|uan
Gelrnan
nlrma reuoriagem, c,uairdo se coioca no ii-lgar de quem d urn tes-
ternunho, o qual no ocupa em seu prprio iivro: "Pulo pela jane-
la do prirneiro andar da v{ailso Ser
poqle
paa mim claro que,
medida que o tempo passal, estarei em condies ffsicas cada'rez
pioles, perderei a iniciativa. Ento penso que devo teagr' j'Eu
tinha visto que a
janela do banhelro no estava t ancada. Peo que
8+
me levem l e, como estava amamentando minha lha menor, de
quarenta dias, me davam mais tempo para que eu pudesse tirar o
leite. Entro no banheiro, abro a janela e pulo. De p. Eu me aventu-
rava a duas coisas: a primeira, e fundamental, tentar fugir e perder-
me na Rivadavia
i...]
A segunda: se houvesse guardas l fora eles
poderiam me matar e assim se acabava a histria
[.
. .
]
Eles ouvem
obarulho de minha queda, melevantam elevam para cima,literal-
mente aos pontaps".'O livro silencia esse fato, suas circunstncias
e conseqncias;tambm siiencia a existncia dessa flha de qua-
renta dias; ns, leitores, ficamos sabendo isso depois, em reporta-
gens publicadas quando sai a edio argentina da tese rnexicana.
Calveiro, quando escreve e analisa, refere-se ao ato suicida
como a deciso que enfurecia os desaparecedores e tinha as conse-
qncias rrais cruis, porque significava um exerccio proibido da
vontade, mas no menciona sua experincia, embora ela possa
persistir numa rernemorao calada. Como dado pessoal, essa
experincia foi apagada de um livro adequado a uma argumenta-
o
baseada nos relatos de outros, isto , nas fontes que Calveiro
pode analisar como material no autobiogrfco (embora sua vida
seja um fundo sobre o qual esses dados tarnbm faam sentido,
como se ela se dissesse que o que experimentou produz algurnas de
suas condies de leitura).
Em vez de sua tentativa de suicdio, Calveiro escreve:'? morte
podia parecer uila libertao. Na verdade, os torturadores usavam
a expresso'foi-se'para designar algum que elestrnham matado
dr-rrante a tortura. E, no entanto, decidir a prpria morte era uma
das coisas proibidas ao desaparecido, que ento clescobria a difi-
culdade,
jno de viver, mas de morrer. Morrer iro era fcil den-
iro de uin campo. Teresa 4eschiati, Susana Burgos e muitos outros
sobreviventes relatam tentativas por vezes absurdas, mas desespe-
radas, para encontrar a morte: tomar gua poluda, deixar c1e res-
pirar, tentar suspender voluntariamente qualquer funo vital.
85
Mas no era to simples. A mquina inexoriivel tinha se apropria-
do zelosamente da vida e da morte de cada um". Teresa Meschiati,
Susana Burgos e outros: nessa curta enumerao, Calveiro fazpafie
dos outros. Seu objetivo no provar que o campo foi to terrvel
que ela tentou se suicidar; no quer usar seu corpo como base tes-
temunhal.
Quer
provar, de modo mais amplo e intelectual, que as
condies do carnpo podem conduzir tentativa de suicdio de
muitospresos e que todos os desaparecedores reagem diante desse
gesto ltimo de liberdade com o exerccio mais extremo da violn-
cia, Calveiro no se apresenta como uma testemunha, mas como
uma mulher em cuja vida houve o desaparecimento e a tortura,
que recupera como matria de uma anlise que ela mesmarealza.
A vtima no procura ma identidade em sua biografia, mas no
dispositivo intelectufcom que rnonta seu argumento.
Ela, Pilar Calveiro, a detida-desaparecida da ditadura, no
vem dar seu testemunho, mas receb-lo de outros detidos-desapa-
recidos. Essa mudana de lugares
(gr1e no enfraquece a solidarie-
dade nem a simpatia, mas exclui Calveiro
{g9se
dom, porque ela
procua ser reconhecida em outro lugar e por outros motivos)
claramente indicada nas fontes testemunhais que o texto mencio-
na e cuja procedncia se esclarece em notas.
Mas h umas poucas e mnimas inscries autobiogrficas:
seu prprio nome e seu nmero de pr esa,47
,aolado
do de Lila Pas-
toriza;uraa dedicatria:'A Lila Pastoriza, amiga querida, perita na
arte de encontrar brechas e disparar contra o poder com duas
armas de altssima capacidade de fogo: o riso e o deboche". Suavida
est ali, mas Calveiro se recusa a cit-ia, como cita as iembranas de
outros presos. Se uma detida-desaparecida fala de sua experincia
carcerria emprimeira pessoa, o discurso resiste discusso inter-
pretativa
(como assinalou Ricceur); seu carter extremo uma
espcie de blindagem que o cerca, transformando-o em aigo que
deve ser visto antes de analisado. O texto em primeira pessoa ofe-
B6
rece um conhecimento que, de certo modo' tem carter indiscut-
vel, tanto pelo imediatismo da experincia como pelos princpos
morais que foram violados.
Calveiro renuncia a essa proteo de uma auto-referncia
emprica. Claro, no poderia ocultar
(seria no s impossvel
como absurdo) que foi uma detida-desaparecida, torturada, sobre
quem sesxerceram todas as violncias do terrorismo de Estado.
Mas, em vez do eu, surgem os testemunhos de terceiros. Calveiro
no assume o lugar que lhe cabe para escrever seu ivro porque
procura uma interpretao que mais possvel se suas fontes so
outras. Analisa a experincia e as condies que a proYocaram; mas
no pe suaexperincia no centro.
Ela constri uma distncia analtica com respeito aos fatos. A
dimenso autobiogrca quase ausente cede lugar dimenso
argumentativa: onde se devia falar em primeira pessoa, fala-se em
terceira. O tempo passado no o do testemunho e de sua dimen-
so autobiogrfr.ca,mas
o da anlise daquilo qlre outros narrarail
e da elaborao de classificaes e categorias: o tipo de tortura, os
passos da resistncia e os da delao, a lgica do campo' que repro-
duz a do pensamento totalitrio, a vicia cotidiana dos desaparece-
dores,
jogando uma partida de truco que telr como fundo solforo
os discursos de Hitler; a coexistncia do legal e do ilegal, do com-
pletamente secreto e da quebra do segredo para induzir a urn ter-
tor generahzado; a categoria de subversivo que produz em simetria
a do desaparecido. Uma sociedade concentracionria se desenha
com suas leis e excees, com os espaos entregles ao impulso dos
desaparecedores
e os espaos regulamentados at nos detalhes
mais insignificantes'
Calveiro no escreve uma "fonte". Por isso possvel concor-
dar ou discordar do que afrma, sobretudo em suas hipteses mais
gerais. A liberdade de leitura
(uma liberdade intelectual e moral)
se encontra mais segura nesse terreno do que no da primeira pes-
B7
soa, justamente
prque primeira pessoa tem um direito e uma
capacidade impositiva, de presena, que faltam terceira pessoa.
Diferentemente do eu de um testemunho
, cujarelao com os
fatos dificil de pr em dvida (deveria
se demonstrar, por exem-
plo, que se trata das rnemrias de um vigarista) e em que preciso
muita desconfiana ou m -fparadiscutirsuas asseres, Calveiro
no se apresenta como testemunha, mas como analsta do teste-
munho de outros. Nessa posio ela pode se mover com alegitimi-
dade de quem expulsou o prprio testemunho para incluir seu jul-
gamento, no sua experincia, nos termos de uma disciplina social
e de uma condenao moral e poltica que prescinde do prprio
sofrimento para ser justa.
Seu livro no decorre da priso e da tor-
tua, mas do exiio no Mxico, onde ela pesquisou e incorporou os
instrumentos intlectuais paa escrev-lo, situando-se em primei-
ro lugar no mais acadmico dos espaos e no gnero mais pesada-
mente escolar: a tese de doutorado, que ordena a excluso do eu,
sem excees.
C que Calveiro faz com su xperincia original com respei-
to ao espao testemunhal. Ela"afirma que a vtima pensa, at
mesmo quando est beira da lducura. Afirma que a tima dei,xa
de ser vtirn a porque pensa. Renuncia climenso autobiogrfica
porquequff escrever e entender- em iemos mais ampios que os da
experincia sofrida.
Frimo Levi escreveu extensanente sobre como as condies
,Jo
Lager afetavam os "muulmanos",
aqueles presos que j
no
pertenciam ao mundo dos vivos porque
tinharn abandonado toda
pulso de vida, at em seus nveis fsicos rnais elementares. Assi-
nalou que a v et dade da Lager estal,a tesses hornens n.o
y
iy a s, mais
qlre nas categorias de presos nas quas ele mesmo se inscrevia.
Assiiralou tambn: qr-re, soble a i'erdade final do Lo,ger,s os inor-
tos, isto , aqueles cujo testemunho jamais
se poder escutar,teriam
i-rma palavra a dizei. Seus terics oclipan-r esse vazio rjeixado pela
oo
experincia intransmissvel, irrecupervel, da tpica vtima. Tam-
bm aqui h uma reticncia: Levi se v obrigado a falar em lugar dos
que no falam. Calveiro, cercada pelos que sobreviveram para falar
e responder assim, indiretamente, idia de Levi, pega outro cami-
nho igualmente complexo: no falar em nome prprio. Nessa ces-
so da primeira pessoa, Calveiro sacrifica no apenas) como se
poderia pensar, a riqueza detalhada e concreta da experincia, mas
sua autoridade imperativa, seu carter, afinal, intratvei.
Bg
5
. Ps - menr ria, reconstituies
James
Young, no comeo de At memory's edge,'pergunta-se
como "lembrar" aqueles fatos que no foram diretamente experi-
mentados, como "lembrar" o que nose viyeu. As aspas que srqua-
dram a palavr a lembrar indicam umSb fi gurado: o que se "lembra"
o vivido, antes, por outros.
"Lembiar"
se iferencia de lembrar
pelo que Young denomin a carter virio da
"lembrana".
A dupla utilizao de "lembrar" torna possvel o deslocamen-
to entre lembrar o vivido e "lembrar" narraes ou imagens alheias
e mais remotas no tempo. impossvei (a no se num processo de
identificao subjetiva inabitual, que ningum consideraria nor-
mal) lembrar em termos de experinciafatos que no foram expe-
rimentados pelo sujeito. Esses fatos s so "lembrados" porque
fazemparte de um cnone de memria escolar, institucional, pol-
tca e at familiar (a lembrana em abismo: "lembro que meu pai
lembrava", "lembro que na escola ensinavam", "lembro
que aquele
monumento lembrava").
Alertado intermitentemente pelo marco que enquadra o lem-
brado, Young assinala a cartet "vicro" dessa meinria. Mari-
9o
anne Hirsch chama de
"ps-memria" esse tipo de
"lembrana",
dando por inaugurada uma categoria cuja necessidade deve ser
provada.' Interessa a Hirsch salientar a especificidade
da
"ps-
memria" no para se referir memria pbiica, essa forma de his-
tria transformada
em relato ou monumento,
que no designa-
mos simplesmente
com a palavra histria porque queremos
salientar sua dimenso afetiva e moral, em suma, identitria. Ela d
ao verbo
,,lembrar"
usos distintos dos que receberia no caso da
memria pblica; no se trata de lembrar como a atividade que
prolonga a nao ou uma cultura especfica do passado no pesen-
te atravs de seus textos' mitos, heris fundadores e monumentos;
tampouco a lembrana comemorativa
e cvica dos
"lugares de
memria".
Trata-se de uma dimenso mais especfica em termos
de tempo; mais ntima e subjetiva ern termos de textura' Como
ps-memria
se designaria a memr adageta"oseguinte
queia
que sofreu ou protagonizou os acontecimentos
(quer dizer: a ps-
memria seria a "memria" dos filhos sobre a memriados
pais).
A idia percoreu um longo caminho nos estudos sobre o sculo
xx. Aqui me proPonho a examin-la'
Hirsch e Young assinalam que o trao diferencial da ps-
memria o carter ineludivelmente
mediado das
"lembranas"'
Mas os fatos do passado que as operaes de uma rnemria direta
da experiricia
podem reconstituir so muito
Poucos
e esto ttni-
dos s vidas dos sujeitos e de seu entorno imediato' pelo discur-
so de terceiros
que os sujeitos so informados sobre o resto dos
fatos contemporneos
a eles; esse discurso, por sua vez' pode estar
apoiado na experincia ou resultar de uma construo baseada em
fontes, embora sejam fontes mais prximas no tetrtpo' como o
clssico de Fustel de Coulanges sobre os romanos ou o de Burck-
hardt sobre o Renascimento.
Nas sociedades
modernas' essas fon-
tes so crescentemente
miditicas, desvinculadas
da escuta direta
de uma histria contada ao vivo por seu protagonista ou por
97
,rllirrrn que ouviu seu protagonista. A oralidade imediata
(as his-
tLrr irs do narrador que Benjamin pensa que deixaram de existir)
;
r r ,r I ir:amente inencontrvel, exceto sobre os fatos do mais estrito
, r,tirliano. O resto so histrias recursivas: histrias de histrias
r,', .lhidas nos meios de comunicao ou distribudas pelas insti-
I rrit, ocs. Por isso a mediao de fotografias, em Hirsch, ou o regis-
I r o t Ic todos os tipos de discurso a pati dos quais a memria se
, . rri{ ri, em Young, no marcam um trao especfico que mostre
,r rrlt cssidade de uma noo como a de ps-rnem rta, al agota
irrlxir;tente.
Se o que se quer dizer e que os protagonistas, as vtimas dos
l,rlo:; ou simplesmente seus contemporneos estritos tm deles
ur;r cxperincia direta
(por mais direta que possa ser uma expe-
r ii'rrt ia), brastaria denominar memria a captura em relato ou em
,r r
lirrrnento
desses fatos do passado que no ultrapassam a durao
r lt' rrrla vida. Esse o sentido restrito de memria. Por extenso,
e ssir rnernria pode se tornar um discurso produzido em segundo
grn rr, com fontes secundrias que no"vin da experincia de quern
cxcrce essa memria, tnas da escuta davoz (d-da viso das irna-
qcrrs) dos que nela esto impiicacios. ssa a rnemria de segunda
llcra o,lembrana
pblica ou familiar de fatos auspiciosos ou tr-
gicos. C prefixo ps indicaria o habitual: o que vem depois da
ineinria daqueles que viveram os fatos e q.le, ao estabelecer corn
cla essa relao de posterioridade, tambm tem conflitos e contra-
d ies caractersticos do exame rntelectual de um discurso sobre o
passado e de seus eeitos sobre a sensibilidade.
Apresenta-se corno novidade algo que pertence ordern do
cvidente: se o passado no foi'zivido, seu relato s pode vir do
conirecido aitavsde rrrediaes; e, fi1esmo se foivlvido, as rrtedia-
es
fazem parte desse relato. Obviainente, quanto rnaior o peso
dos meios de cornunicao na construo do pblico, maior a
influncia que tero sobre essas construes do passado: os "fatos
)
miditicos" no so a ltima novidade, como parecem acreditar
alguns especialistas em comuni caa, mas a forma como foram
conhecidas, para mencionar exemplos que tm quase um sculo, a
Revoluo Russa e a Primeira Guerra Mundiai. Jornais,
televiso,
vdeo, fotografia so meios de um passado to forte e persuasivo
como a lembrana da experincia vivida, e muitas vezes se confun-
dem com ela.
Young se estende acercados problemas colocados pelo car-
ter vicrio da lembrana de um passado que no se viveu, como se
fosse um trao indito que pela prim eiravez caracterizasse os fatos
de uma histria recente. Mas bvio que toda reconstituio do
passado vcriae hipermediada, exceto a experincia que coube
ao corpo e sensibilidade de um sujeito.
A palavra ps-memria, empregada por Hirsch e Young, no
caso das vtimas do Holocausto
(ou da ditadura argentina,
j que se
estendeu a esses fatos) descreve o caso dos filhos que reconstituem
as experincias dos pais, apoiados na memria deles, mas no s
nela. A ps-memria, que tem a memria etn seu centro, seria a
reconstituio memorialstica da memria de fatos recentes no
lrividos peio sujeito que os reconstitui e, por isso,Young a qualifica
c0mo
"rricria". Mas mesmo caso Se admita a necessidade da noo
de ps-rnem 6ria paru descrever a forma como uir passado no
vivido, embora muito prximo, chega ao presente, preciso aclmi-
tir tambrm que tada experincia do passado criria, pois implica
sujeitos qle procurm entender alguma coisa colocando-se, pela
imaginao ou pelo conhecimento, no lugar dos que a viveram de
fato. Toda narrao do passado uina representao, algo dito rto
lugareumfato" O vicrio iro especfico da ps-rnenria'
Tampouco a media-o
(ou "hipermecliao'] colno escre\re
Ybung parafortalecer por hiprbole seu argurnento) uina quair-
dade especfca. Nurna cultura caracterizadapela
comunicao de
massa a distncia, os discursos dos meios de comunicao sempre
93
funcionam e no podem ser eliminados.
S a extremaprivao,
o
isolamento
completo ou a loucura se subtraem a eles.
por
outro
lado, a construo
de um passado por meio de relatos e represen_
taes que lhe foram contemporneos
uma modalidade
da his-
tria, no uma estratgia original da memria. o historiador per-
corre os jornais,
assim como o filho de um seqestrado pela
ditadura examina fotografias. o que os distingue no o carter
"ps"daatividade
que realizam, mas o envolvimento
subietivo nos
fatos representados.
'
o que diferencia,deumlado,abusca
que os firhos fazemdos
vestgios de um pai ou me desaparecidos
e, de outro, a prtica de
uma equipe de arquelogos forenses no sentido do esclarecimen-
to e da justia
em termos gerais a intensidade
da dimenso sub_
jetiva.
Se se quer dar o nome de ps-memria
histria do desapa_
recimento do pai recnstituda pelo filho, esse nome s seria
aceitvel por duas caractersticas:
o envolvimento
do sujeito em
sua dimenso psicolgica mais pessoal e o carter no
,.profissio_
nal" de sua atividade. O que o diferencia do historiador
ou de um
promotor, seno o que decorre da ordem da experincia subjetiva
e da formao disciplinar? S a memria do pai. Se para chamar
de ps-memria
o cliscurso provocado
no firho, isso se deve tra-
ma biogrfca e moral da transmisso, dimenso subjetiva e mo-
ral. Em princpio, ela no necessariamente
nem mais nem menos
fragmentria,
nem mais nem menos vicria,nem
mais nem rne_
nos mediada do que a reconstituio
realizada por um terceiro;
mas dela se diferencia por ser perpassada pelo interesse subjetivo
vivido em termos pessoais.
O que faz Art Spiegelman seno pr em cena, njma histria
em quadrinhos,
os avatares especficos da construo de uma"his-
tria oral" em q*e sua subjetividade est envolvida, j
que se trata
de sua prpria famlia, mas onde aparecem, alm disso, muitos
problemas do historiador?r E, quando descreve as etapas de sua
94
pesquisa, ajovem arqueloga que chega da Frana para descobrir
as condies da morte do pai no est de certo modo reduplican-
do os mtodos da tese que foi realizar no planalto pampiano?'Se
esse forte envolvimento da subjetividade parece suficiente para se
denominar um discurso de "ps-memtia",
ele o ser no pelo
carter lacunar dos resultados, nem por seu carter vicrio. Sim-
plesmente se ter escolhido chamar ps-memria o discurso em
queho envolvimento dasubjetividade de quem escuta o testemu-
nho de seu pai, de sua me, ou sobre eles.
O gesto terico parece ento mais amplo que necessrio.
No tenho nada contra os neologismos criados por aposio do
prefixo ps;pergunto apenas se correspondem a uma necessidade
conceitual ou se segllem um impuso de inflao terica. Desde o
sculo xx a iteatura autobiogrfi ca abunda em memrias da me-
mria familiar. Sarmienlo, em Recuerdo s de prov incia, comeap ela
histria de sua familiae a reconstitui (bem arbitrariamente, deve-
mos admitir) a partir de fontes familiares e uns poucos documen-
tos. Hoje, esses capiulos de seu livro receberiam o nome de ps-
memria, o que parece completamente desnecessrio para se
compreender arelao complexa e conflituosa de Sarmiento com
seu pai, o esteticismo e a vibrao moral do retrato de sua rne e as
operaes de inveno- recriao de uma famlia que, por seus bra-
ses,lhe permite afirmar-se como filho de uma linhagem, e no s
de suas obras. Victoria Ocampo comea sua autobiografia com o
av, que era amigo de Sarmiento;para entender esse comeo per-
feitamente intil o conceito de "ps-memria", que, em teoria,
deveria ser aplicado.
O fato de essas mernrias familiares de Sarmiento ou Ocampo
no terem sido traumticas, ser que isso que as separa dos relatos
da ps-memria? Se assim f,osse, no se trataria de uma noo que
s serve para se referir a fatos terrveis do passado (o
que implicaria
defini-la por seus contedos)? Tendo acte\ de preferncia, que a
o<
I
{
t
i
l
I
l
tcoria da ps-memria no ievou em cont esses avatares clssicos
cla autobiografra- sobre os quais se escreveram bibliotecas desde
<1ue o tema foi inaugurado por Gusdorf e Starobinski e se incorpo-
rou rnoda crtica por Lej eune
-,
mas foi elaborada no quadro dos
.
cstudos culturais, especificamente naqueles que dizem respeito ao
[:lo]ocausto. A noo foi pensada nesse espao interdisciplinar, e s
ai se poderiam afirmar suas pretenses de especificidade, tanto na
qualidade do fato rememorado, como no estilo co-memorativo das
atividades que mantm sua lembrana.
Mas os estudos de rnemria
(nos
ltimos anos desenvolvidos
cm quantidades industriais, sobre todos os temas e identidades)
citarn a noo de "ps-memria" (sobretudo tal como Hirsch a
apresenta) como se elapossusse algurna especificidade heurstica
alm do fato de que s trata do registro, em termos memorialsti-
cos, das experincias e da vida de outros, que devem pertencer
gerao imediatamente anterior e esto ligados ao ps-mernoria-
lista pelo parentesco mais estreito. Egs-a noo setornou umdnovi-
dade terica sintonizada com outro apogeu d-isciplinar: o dos estu-
dos sobre subjetividade e sobre as "riovas" dirnenses biogrficas
cleslocamento feito pelo prprio livro de Hirsch, com cap-
tuios em que assistimos - anlise cautelosa de fotos dela com a rne,
tiradas pouco antes po um fotgrafo de imprensa que, na opinio
de Firsch, no soube capta a cartet da relao que une me e
filha; sem falar cla explicao de como Hirsch construiu o lburn de
fotos familiares oferecido aos p,ais num aniversrio importante
(para a famlia Flirsch, claro). inflaoteorica da ps-inemria
se redr-lplica, assiin, num armazm de banalidacles pessoais iegiti-
madas pelos novos direitos da subjetivldade, que se exibem no s
no espao trgico dos filhos do Holocausto, ffas naquele inais
amvel de imigrantes centto-elrropels que se deram bem na
Ainrica do Norte e encoiltram poucos traumas en- seu passado
qr-le nc se refiram a corno integrar-se aos novos costltmes e rnodas
E6
(pelo menos essa a verso de Hirsch, que passa pelo centro exato
do que aconteceu com sua prpria famlia).
No entanto, uma observao de Hirsch, no fnal de seu livro,'
apresenta umarelao menos nacisista com as categorias. Elaafrr-
ma que, no caso dos judeus laicos e urbanos, a identidade judaica
se constri como conseqncia da Shoah. Nessa dimenso identi-
tria, a ps-memria cumpre as mesmas funes clssicas da
memria: fundar um presente em relao com um passado. A rela-
o
com esse passado no diretamente pessoal, em termos de
famiia e pertencimento, mas se d atravs do pblico e da mem-
ria coletiva produzida institucionalmente. essa a dimenso em
que se movem os ensaios de Young, que discute apenas a ps-
memria do Holocausto e as estratgias de monumentalizao
(refutadas pelas estratgias simtricas dos contramonumentos).
A questo se a quaiidade "ps" diferencia a memria de
outras reconstituies. Corrio se viu, os tericos da ps-memria
argumentam de duas maneiras, oferecendo duas razes para a
especificidade da noo. A primeira que se trata de utna mem-
rtavicnia e rnediada (esse o argumento central de Young, que
tende a considerar como um trao especfico aquilo que prprio
do discurso sobre o passado); a segunda que se trata de uma
memria em que esto implicados dois nveis de subjetividade
(esse o algLurento central de l-{irsch, que tende a acentua a
dimenso biogrfica com valor identitrio das operaes de ps-
memria). Ambos coincidem no aspecto fragmentrio da ps-
memria e o consideram ulr trao diferencial, como se os discur-
sos sobre o passado no se definissem tarnbm por sua raclical
incapacidade de reconstituir um todo.
Abandonando-se o ideal de urna histria que atinja a totali-
dade por rneio de certos princpios gerais que trhe dariam unidade,
toda lristria ftagmentria. Se o que se quer armar que as his-
trias ligadas ao Floiocausto o so ainda mais, tererrros de buscar
97
as razes para admitir que sua memria tem mais lacunas do que
outas. Primo Levi avana por esse caminho, porque acredita que a
verdade do Lagerest nos mortos, que jamais
podero voltar para
enunci-la. Mas, fora dessa convico de Levi, seria preciso de-"
monstrar a incompletude da memria sobre o Holocausto, um
acontecimento maciamente cercado de interpret ao: aprpria
palavra com que designado umainterpretao de sentido trans-
cendente e inflexo religiosa. Na verdade, hoje o Hoiocausto no
parece lacunar, a menos que se pense que seu aspecto fr-agment-
rio vem do fato de no se ter conseguido reconsttuir cada umdas
acontecimentos (pretenso
algo primitiva em termos de mtodo,
embora represente umvalormoralno sentido dequ e cadaumadas
vtimas tem direito reconstituio de sua histria, que, no aspec-
to pessoal, obviamete nica). Ou tambm qlle o centro dam-
quina de morte, as cmaras de gs e os crematrios s podem ser
reconstitudos arqueologicamente.
O aspecto fragmentrio de toda memria evidente."Ou se
deseja dizer algo mais que isso, o,rimplesmente se est jogando
sobre a ps-memria aquilo que se aceita universalmente desde o
momento em que entaram em crises grandes snteses e as gran-
des totalizaes: desde meados do sculo xx tudo fragmentrio.
Esse aspecto fragmentrio decorre, na opinio deYoung,u do
vazio entre a lembrana e aquilo que se lembra. A teoria do vacuurn
ignora o fato de que essevazio sempre marca qualquer experincia
de rememor ao, at a mais banal. Young passa sem a menor difi-
culdade por cima dovazio deixado pelo Holocausto, do vazio dos
judeus
na Alemanh a e do vazo que est no centro da experincia
da lembrana. Arma-se assim urna espcie de corrente metonmi-
cadeumvazio para outro, embelezada por todos os prestgios te-
ricos, a que se poderiam acrescentar o vazio constitutivo do sujei-
to, o vazio de onde surge o enunciado, o vazia cuja iembrana
recortada com dificuldacle tc. etc. Como iinpossvel contradizer
gB
aidiadevazio deixada pelo Holocausto, essa evidncia se transfe-
re, sem maiores exames, a outros
"vazios". Filosoficam ente la
mode,essacorrente mais sugestiva do que slida.
A"vazio" entre a lembrana e aquilo que se lembra ocupa-
do pelas operaes lingsticas, discursivas, subjetivas e sociais do
relato da memria: as tipologias e os modelos narrativos da expe-
rincia, os princpios morais, religiosos, que limitam o campo do
lembrvel, otraumaque cria obstculos emergncia dalembran-
a,
os
jugamentos jrealizados que incidem como guias de avalia-
o.
Mais que de um vazio, trata-se de um sistema de defasagens e
pontes tericas, metodolgicas e ideolgicas. Se algum quer cha-
mar esse sistema de "v-azio",temo direito de faz-lo, na medida em
que defina outro espao (entre o fato e sua memria) onde ocorra
o discurso e se operem as condies de possibilidade. E um vazio
cheio de retrica e de avaliao.
O aspecto fragmentrio do discurso de memria, mais que
uma qualidade a se afirmar como destino de toda obra de reme-
morao, um reconhecimento exato de que a relnemorao
opera sobre algo que no est presente, para produzi-lo como
Pre-
sena discursiva com instrumentos que no so especficos do tra-
balho de memria, mas de muitos trabalhos de reconstituio do
passado: em especial, a histria oral e aquela que se apia em regis-
tlos fotogrficos e cinematogrfcos. O aspecto fragmentrio no
uma qualidade especial desse discurso que se vincularia com seu
"vazio" constitutivo, mas uma caracterstica do relato, de urn ado,
e do carter tnevitavelmente lacunar de suas fontes, de outro. S na
teoria do irrepresentvel do Holocausto seria possvel afirmar a
prevalncia d ovazto sobre a palavra. Mas, nesse caso, no se trataria
de relatos lacunares, e sim impossveis. Em outros casos de discursos
sobre morte e represso, essa teoria no poderia simplesmente
estender seu domnio, e deveria demonstrar que essa extenso des-
critivamente adequada.
99
I
No entanto, como demonstra urna anlise brilhante de
Georges Didi-Huberman,
o irrepresentvel do Holocausto a
ausncia daqueles documentos que foram sistematicamente des-
trudos. No h imagens de um crematrio em funcionamento,
exceto as quatro fotografias tiradas por um preso e analisadas por
Didi-Huberman: "Custasse
o que custasse, era preciso dar uma
forma quele inimaginvel".'O que sabemos do Lager fragmen-
trio, sobretudo porque houve urna deciso poltica e um espao
concentracionrio que se propuseram liquidar toda possibilidade
dq comunicao com o exterior e, por conseguinte, de representa-
o
posterior. Os mortos, como indica Primo Levi, aqueles sobre
os quais se cumpriu devez o destino concentracionrio, so irre-
presentveis porque a e;perincia em que culmina o Lager
-
a
cmara de gs
-
a experincia da quai no possvel reconstituir
coisa alguma. S os que se salvararn, diz Levi, tm condies de dar
testemunho, mas essetestemunho, a urn s tempo obrigado e coer-
citivo (pois exece sua fora potencial:sobre
os sobreviventes), e
incompleto, porque no tocou no ncleo assassino da verdade
concentracionria.
Mas Didi-Hubermn dedica sua anlise a essas
quatro imagens do crematrio para, de um lado, mostra que
atrgum, urn prisioneiro que arriscava tudo, tornou-as possveis e,
de outro, que essas imagens, apagadas, imperfeitas, so urna base
para imaginar o Lager, e no urn cone fetiche que encerraria seus
sentidos ao tentil represent-los.
Fora do Lager, diante de procluces discursivas ou estticas
contemporneas, longe do impacto q-te povoc ou o dictum de
Adorno, respondido, quase de imediato, pea poesia de
paul
Celan,
a teoria do vazio representacional e da qualidadelacunar da
reconstituio memorialstlca forma um sistema com outrolugar-
comum contemporneo, que afrrrna- que, quanto mais irnportan-
tes so as peguntas, menos se pode pretender responder a elas.
{o se descarta sirnplesmente a resposta que impe uma verso
100
com excluso de outras, mas necessrio se precaver contra qual-
quer resposta que prodnza uma clausura indesejvel.
euando
analisa o projeto do museu judaico
de Berlim, deDaniel Libeskind,
Young recorre a uma frmula com a qual acredita deixar estabele-
cidos os mritos do projeto, porque teria"respondido ao problema
deixando-o sem soluo".'A frmula paradoxal no signifi ca tanto
como suas pretenses.Young quer dizer que Libeskind no anulou
o problema, no o tornou invisvel aos visitantes do novo ediftcio;
que, ao mesmo tempo que encontrou uma soluo paa o projeto
e a efetivou, conservou os dados que seu prprio projeto devia
resolver. Mas, emvez de apesenta esse argumento simples,young
recore ao paradoxo e, assim, salienta a aporia dos trabalhos de
memria (e de seus monumentos e contramonumentos). Salienta
o que denomina a
"irresoluo
perptua",n uma frmula to
atraente como nebulosa. Se se quer dizer que uma questo estlite-
ralmente aberta perpetuidade, isso uma verdade bvia, j
que
ser retomada de modo inevitvel com novos instrurnentos teri-
cos e em novos contefios significativos. Mas se se quer dizer que,
por defnio, um problema est iro atual momento aberto irre-
solno, o que se afirma , mediante outro lxico, uma noo de
't-cuttnt.Young
recore teoria do vacutnn,daquilo que no existe
seno na ausncia, e obriga-se a continuar ligado a ela s porque
quase sacrego afrmar que os trabalhos da rnemrja coinparti-
tham a incompletude tpica de toda lembrana do passado, at
quancio j
se tl'ansformaram em tpicos clssicos, e se transforma-
ram em tprcos (a
Shoah, os desaparecidos) justamente
porque
no perrnanecerar ir resolvidos.
Os exernplos trazidos do campo artstico que
young
analisa
mostram, consideradcs em selr conjunto, que a questo no ficou
irresolvida e que h um cnone esttico frme (de
instalaes e
coniramonumeritos) que exerce seu poder simbiico no presente,
embora seu destino futuro seja o de ser revogvel. notvei o con-
:li'.:
:..:riiitr
io1
traste entre o discurso do "aberto", do "fragmentrio" e do "irresol-
vido" com queYoung acompanha um conjunto de obras contra-
monumentais de primeira linha internacional. E notvel como
transceve memrias dos artistas em que as coincidncias sobre o
que se devefazer como ps-memria do Holocausto so de fato
espantosas. No campo artstico, a ps-memria tem um deci{logo
internacional unificado e fortemente criador de consenso-
Hirsch tambm insiste no carter inacabado e fragmentrio
que definiria, por sua prpranatureza, as subjetividades que lem-
bram e a memria que produzem' Esburacados, mais evidentes
por seus vazios que por seus cheios, os discursos da ps-memria
renunciam toalizao-no s porque nenhuma totalizao
possvel, ms porque els so destinados essencialmente ao frag-
mento. dificit concordar com uma definio to totalizante
como taxativ a,
j qt:e, depois da crise e da crtica das filosofias da
histria, a todo discurso no autoritrio so atribudos essestraos
e, por conseguinte, o que lhe atribudo como especfico da ps-
memria pertence a um universo generalizads. Se h diferenas,
devem estar em outra
Parte'
,:
EXEMPLOS E CONTR.A-EXEMPLOS
Convm evitar um discurso nico sobre a memri.a e a"ps-
memria". Caracterzado pelo lacunar, pelo mediado, pela resis-
tncia totalizao e por sua prpria impossibilidade, o discurso
nico da
"ps-memria" sempre encontra o que procura e'par
conseguinte, montono em seu descuido programtico das dife-
renas entre relatos.
Se se trata do modo como os filhos processam a histria dos
pais no ponto em que houve fraturas importantes, no adianta
identificar apenas uma forma invarivel' As diferenas que so
102
ignoradas provm de origens sociais, contextos e imaginrios, at
de modas tericas difundidas como tendncias culturais.
Uma rpida observao do caso argentino posterior a 1955
indica que,longe de se afastarem datotalizao,longe de adotarem
uma perspectiva explorata e hipottica,longe de resistirem a
encerrar alguns sentidos do passado, osjovens radicais da gerao
posterior queda do primeiro governo de Pern procuraram uma
histria que lhes garantisse sentidos e seguisse uma trajetria defi-
niclaporumateleologia quelevava da queda redeno revolucio-
nria, com um protagonismo slido ao qual foram atribudas qua-
lidades absolutamente estveis. Eles montaram um discurso que
correspondia a princpios da poca tanto no mbito poltico como
nas correntes ideolgicas que prevaleciam no nacionalismo revo-
lucionrio e na esquerda.
No foi sua condio de
fiIhos,
mas a de
jovens intelectuais,
que definiu sua relao com o passado em que os pais tinham vivi-
do. Em vez de uma memria dos pais, eies procuraram uma
memria histrica, que atriburam ao Povo ou ao Proletariado. O
diaTT de outubro de 1945, dia em que, segundo a tradio, se defi-
niram a liderana de Pern e o protagonismo das massas popula-
res, foi o fato-chave: traumtico para quem no conseguiu enten-
der seu significado. O desaparecimento do cadver de Eva Pern
configurou simbolicamente uma reivindicao do corpo que sub-
jugou um vasto imaginrio poltico. O corpo roubado se transfor-
mou em palavrade ordem para jovens que no tinham chegado a
conhecerEvita.Aferidaaberta
no corpo poltico do peronismo de-
via ser rcparada,at pela vingana.
O discurso histrico com que se identificaram os que chega-
vam poltica nos anos 1960 no foi dubitativo nem lacunar; teve
um centro bem estabelecido e uma direo que marcava origem e
futuro, Os fiihos dos quetinharnvivido naidadeadultasob o pero-
nismo procrraram uma interprelao forte que unificasse os
{:r
.'iq&,
103
f.atos, contra a interpretao que seus pais apresentavam, caso
tivessem sido opositores; ou mudando o sentido que os movera,
caso tivessem sirnpatizado com o peronismo. Esses jovens,
fi.lhos
da gerao para a qual o 17 de outubro foi um trauma e uma data
fundadora, falaram abertarnente do passado de seus pais e consi-
deraram que eies tinham sido participantes equivocados ou espec-
tadores que no entendiam os acontecimentos. Foram filhos que
corrigirampolticamenteo modo como seus pais viveram o primei-
ro governo peronista; que os acusaram de ter sevoltado com inten-
sidade para o pblico e no ter captado a verdadeira natureza do
movimento de massas.
Em vez de construrem, como filhos, uma verso pessoal per-
meada e mediada do perodo imediatamente anterior que no
tinham vivido, propusezm um relato compacto e global dessa his-
tria contempornea juventude
ou rnaturidade de seus pais, para
que os equvocos, as fantasias ou as limitaes ideolgicas das
quais eles foram culpados no se repetissem no futuro. No h
vazio nesses discursos, no h fragmeiifo.0 Os filhos criticaram
as opes dos pais e se referiram a esse passaddpoltico para supe-
r-1o, no porque se sentissem diretantente afetados, mas porque
isso fazia parte de uma dimenso pblica. A mernria devia fun-
cionar como "mestra
cia poltica" para que no se repetissem os
equvocos da gerao anterior, que no foi capaz de entender seu
prprio presente.
A experincia dos pais e a chamada "ps-memria"
dos filhos
se enfrentaram num cenrio de conflito agudo. A "ps-mernria"
seria, nesse caso, uma correco decidida da memria, e no urna
trabalhosa tentativa de reconsiituio; seria r.rma certezacompac-
ta, que precisou dessa solidez porque a histria difundida entre os
flhos devia ser um instrurnento ideolgico e cultural da poltica
nos anos i960 e na prirneira rnetade dos 1970" A poca pensava
desse rnodo e os
jovens
pensavafi de acordo corn a poca.
ia4
Trinta anos depois, encerrada a ditadura militar os filhos des-
ses jovens dos anos 1960, muitos deles militantes desaparecidos e
assassinados pelo terrorismo de Estado, tomam diante do passado
dos pais posies bem diferentes. Ao faz-lo,atm-se igualmente a
normas da poca, que valorizam a demonstrao da subjetividade,
reconhecem plena legitimidade a inflexes pessoais e situam a
memria em relao a uma identidade no meramente pblica.
Ditado por esse esprito de poca, um ilme de Albertina
Carri, Lo s rubio s,tt rerne todos os temas atribudos ps-memria
de uma filha sobre seus pais assassinados. A respeito desse filme,
Martn Kohan escreveu: "Os
amigos dos pais
[da
diretora, A]ber-
tina Carri] exibem uma viso demasiado poltica das coisas ('ar-
mam tudo poiiticamente'); o testemunho no qual se admite que
naquele tempo o poltico tudo invadia, este, sim, tem cabimento,
mas admite-se isso como quem admite a confisso de uma culpa.
A sensao de um exagero poltico, claro sinal desses tempos,
poderia levar a supor que los rubios
-
vale insistir: o filme que
uma filha de dois militantes polticos desaparecidos faz a partir do
que aconteceu com seus pais
-
prefere postergar a dimenso rnais
especificamente poltica da histria, para recuperar e privilegiar
uma dimenso mais ligada ao humano, ao cotidiano, ao rnais pes-
soal da histria de Roberto Carri eAna Vlara Caruso
[...]
E, ainda
assim, notrio que, em Los rubios,os nomentos em que os teste-
munhos dos amigos de militncia roam ou transitam no registro
da'semelhana humana' no so muito menos desconsiderados
do que o resto do que dizem"."
Certamente, o filme de Carri rnostra pouco interesse pelo que
dizern dos pais dela aqueles que os conhecerarn. Seja porque esses
conternporneos de seus pais ainda querem ditar as coisas a partir
de sua perspectiva poltica; seja porque no podem seno falar
desse passado; sejaporque sempre relacionam a dimenso familiar
privada rniitncia, o fato que para a diretora-fiiha de desapae-
io5
cidos as coisas perdem totalmente o interesse. Distante das idias
polticas que levaram seus pais morte, ela procura, antes de mais
nada, reconstituir a si mesma na ausncia do pai (conforme
o filme
esclarece, depois de citar uma frase de Rgine Robin). A indiferen-
a,
e mesmo a hostilidade, diante do mundo de seus pais exacerba
a distncia que o filme mantm em relao ao que se diz deles e aos
amigos sobreviventes que do seu testemunho. Carri no procura
as "razes" de seus pais, muito menos a traduo dessas "tazes"
pelas testemunhas a quem recorre; procura seus paisna abstrao
de uma vida cotidiana irrecupervel, e por isso no consegue se
concentra nos motivos que os levaram militncia poitica e
morte. Como as testemunhas que encontra so amigos de militn-
cia de seus pais, as perguntas a que ela procura responder ficam
inevitavemente sr resposta, at quando as testemunhas evocam
cenas domsticas e familiares. No podia ser de outro jeito, pois o
filme interrog pessoas que ela considera unilaterais ou equivoca-
das. O mal- entendido compreee_svel.
Outros testemunhos, como o de umlmulher que se nega a ser
filmada e foi companheira de cativeiro dos pais da diretora, dizem
o que j sabido: que no Sheratonlo centro de deteno onde esta-
vam Roberto Carri e sua mulher,alm do desenhista Oesterheld)
todos trabalhavam num livro "por encomenda", uma histria ilus-
trada do Exrcito. Mas acrescenta um dado: Ana Mara Caruso, a
me deAlbertina Carri, cuidou da filha recm-nascida de quem d
o testemunho. O filme no tem nada a dizer sobre essas duas infor-
maes. Provavelmente porque se trata davida no campo de con-
centrao, e, afinal, o que interessa diretorano isso, e sim sua
infncia em outro campo, o de seus tios, onde viveu depois da cap-
tura dos pais.
A esse campo, o filme chama"Campinho", graas aumcartaz
que no se sabe se irnico ou se indica um simples paralelismo.
No "Campinho" se passam uma cena do comeo e as do final, Ali
ro6
no est presente a lembrana dos pais, mas a da infncia da dire-
tora, e, por conseguinte, quando se filma esse campinho, o que se
evoca a infncia rf, mas cercada por uma famlia solcita, que
d ento meninaAlbertina Carri "a felicidade de ser mal-educa-
da' Como se falasse daquele lugar infantil, em of se escuta: "Custo
a entender a escolha de mame. Por que no foi embora do pas.
Por que me deixou no mundo dos vivos". Essa voz em o7f ressoa
sobre a imagem da atrtz que representa a diretora, num gesto de
grito desesperado. O filme tambm no atinge a compreenso dos
atos paternos, que a atiz "custa" a entender,
j que as razes desses
dois militantes, se no forem buscadas na poitica de uma poca,
ficaro definitivamente mudas.
Tambm so annimos os amigos militantes que do seu
depoimento no filme: caras evozes que o espectador no consegue
unir a um nome prprio. S em letras muito midas, nos agrade-
cimentos finais, esses nomes aparecem escritos, separados de suas
imagens correspondentes, que permanecem como imagens de
desconhecidos, embora mantenham com a diretora e com seu
duplo uma relao afetiva indisfarvel. Em um filme sobre a iden-
tidade, em que a diretora escolhe representar-se dupiamente' por
si mesma e atravs de uma atriz que diz seu nome e diz que repre-
sentar a diretora, as testemunhas permanecem no anonimato.
Pelo que contam, ficamos sabendo que foram amigos,parentes ou
colegas dos pais da diretora, mas ern Las rubios seu anonimato
um sinal de separao e, at, de hostilidade. A operao de dupla
afirmao da identidade deAlbertinaCarri contrasta com o seve-
ro despojamento do nome de outros. Identidade por subtrao.
O filme comea e acaba no campo. Na primeira cena, ouve-se
uma voz em off, a da diretora, que d indicaes de como estribar
para andar a cavalo. Na ltima imagem, v-se a atriz, que recebia
essas indicaes no incio, ainda sendo assistida pela diretora, rnas
j transformada em cavaleira, como se tivesse ocorrido ulr apren-
""i"
to7
dizado, no aquele que o filme se prope afazer, mas outro: um
aprendizado de destrezas
"normais", que substituiria a fracassada
explorao da memria.
As perucas usadas pela diretora, pela atriz que a representa e
por trs membros da equipe de filmagem tambm so parte de
um dispositivo de deslocamento de um lugar a outro, de uma
identidade (paterna/materna) no encontrada a uma identidade
adotada como personificao e disfarce. Antes desse final com
perucas louras, o filme
justificou
seu ttulo em vrios testemu-
nhos de vizinhos que afirmam que a famlia Carri-Caruso e as
flhas eram todas louras
lrubias).
Asimagens da diretora, morena,
e da atriz que a representa, tambm morena, evidenciam que os
vizinhos traduziam a diferena percebida entre eles e a familia
Carri em termos ftlicos e de classe (ser louro na Argentin ano
to freqente), ou ento que os Carri, como faziam muitos mili-
tantes, mudaram a cor do cabelo para disfarar sua aparncia. Seja
como for, toda a famlia defiqi{a pelos vizinhos comb "os lou-
ros". Ao colocar perucas louras, as pessoas*da equipe de filmagem
se situam no lugar dessa identidade passada diferente. E tm razo
emfaz-lo porque, quando chegam ao bairro popular com suas
cmeras, a aftiz que representa Carri diz:"Eramais que evidente
que no ramos dali. Devia ser parecido com o que aconteceu com
meus pais". A diretora e a equipe do filrne, por motivos culturais,
por sua aparelhagem tcnica de cmeras, microfones e gravado-
res de som, por suas roupas, pelo modelo dos culos e pelo corte
de cabelo, pelo automvel ern que andarn, continuarn a ser, para
os vizinhos, "louros" ou, como d.iz urna frase do filme, "branco,
louro, estrangeiro".
Envoltos nessa diferena fzerarn o flme, em que talvez s
haja um momento de equvoca identificao de Albertina Carri
com seus pais. quando se ouve em offumdesejo seu no conce-
tizado: "Gostaria de fiinarmeu sobrinho deseis anos dizendo que,
ro8
quando souber quem matou os pais de sua me, ele vai mat-los.
Minha irm no deixa".
SEM LEMBRANAS
Sentir-se abandonado, no caso dos filhos de desaparecirlos,
inevitvel. A tragicidade dos fatos tocou ali onde no havia i;ujei-
tos em condies de responder nem de se defender, sujeitos que
no tinham escolhido um destino que inclua a morte como pos-
sibilidade, sujeitos que pura e simplesmente no estavam em con-
dies de escolher. Tiinta anos depois, esses filhos de pais desapa-
recidos do desses fatos testemunhos diferentes. Um sonho arriicula
o exerccio de
"ps-memria" de Carri com a busca de uma ima-
gem paterna ou materna e, concretamente, da histria no sti pes-
soal, mas poltica, desses desaparecidos:
"Tenho dezoito anos, meu
pai est desaparecido, era mdico. H pouco sonhei com ele' So-
nhei que me
jogavam em cima dele e eu lhe dizia:'Ai, por favor, me
leve com voc paraonde voc est, no me importa, seja o qtre for,
me leve para a ESMA, no me importa, quero morer ao seu [ado!'' E
ele me dizia:'No, no, ande atrs dessa bandeira', e eu dizia'No,
no, no quero ir atrs de nenhuma bandeira, poque isso no
passa pelo poltico, quero ficar com voc', e ele como que me dizia
'No, voc tem de ir atrs dessa bandeira'e eu dizia'No, quero
ficar com voc, mais nada"'.t'
I
Nesse relato de um sonho, a poltica, como mandato paterno,
contrape-se fora do desejo, tal como na insolvel perploddade
destas perguntas: "Durante rnuitos anos pensei que eles lutaram
por um pas rnelhor, mas fiquei sem minha me por seis anos e no
tenho mais meu pai. O que valia mais apena?. I-utar por utn pas
melhor ou formar uma famiia? Tudo isso so contradies' {o os
julgo por seus atos; so coisas que pala mirn continuam penrlentes.
1t)9
Tmpouco eles tm ou tinham a resposta. No previram at onde
chegariam os militares. No podiam saber'1'n s vezes, no lugar
vazio dos desaparecidos no hnem haver nada, excetoalembran-
a
de um sujeito que nolembra: " diffcil dar forma a algo que a
,
gente no conhece, que a gente no sabe, a nomes de pessoas que
no tm um tmulo para que a gente diga que eles esto ali. No se
pode pr nome em algo que no se conhece, eu tinha dois anos
,
quando eles desapareceram) no me lembro de nada deles, lembro
de mim olhando pela janela, esperando que voltassem".t5
Mas muitos dostestemunhos de filhos de desaparecidos com-
pilados por
]uan
Gelman e Mara La Madrid em Ni elflaco perdn
de dios correspondem, em contrapartida, a uma busca da verdade
que no exclui a figura pblica dos pais e seu compromisso polti-
co. O filme de Carri m exemplo quase que repleto demais da
forte subjetividade da ps-memria; os testemunhos de Ni el
flaco
perdn de dios,assim como o filme de Carmen Guarini sobre Hrlos
(a organizao que rene os que tr4 pais desaparecidos),mos-
tram a outra face de uma reconstituio do pgssado. Muitos teste-
munhos de Ni el
flaco
perdn de dios so de jovens que se sentem
mais prximos do compromisso poltico dos pais ou fazem esfor-
o
para entend-lo, convencidos de que, se o entenderem, podero
captar algo do que seus pais foram. Os utlos e Albertina Carri
foram vtimas de acontecimentos histricos semelhantes: a dita-
dura inaugurada em I976 seqestrou e assassinou seus pais.
Ambos estariam no lugar de onde se constri uma"ps-memria ]
mas em relao a ela suas operaes so diferentes.
Muitos desses filhos esto ss na situao de reconstituir o
passado: "Eles (a famlia) nem ficaram sabendo que me encontro
com esse rapaz cujos pais desapareceram
junto com os meus. Eles
no tm conscincia da histria, no sei quais sero os motivos'1'u
Outra histria: MariaLatra foi enganadapela av, que a criou
dizendolhe que o pai a havia abandonado, que vivia no Brasil e
110
no se lembrava dela. Depois de muitos anos, Mara Laura e sua
irm mais moa, Silvina, foram para a Frana, viver com a me, em
relao a quem haviam mantido uma distncia entremeada de
visitas priso, mal-entendidos, uma espcie de repdio. Formada
em paleontologia, anos depois Mara Laura retornou Argentina
e procurou os restos do pai desaparecido, encontrou-os, enterru-
os em seu vilarejo e reconstituiu, tanto quanto lhe foi possvel,
fragmentos de uma histria de militante. Ps diante da av as pro-
vas da ocultao em que transcoreu sua infncia.
Mara Laura e Silvina no souberam nada do pai, nem vive-
ram num meio em que a poltica e a miitncia fossem considera-
das um compromisso pessoal a merecer o respeito de uma escolha
poltica e moral. Sua colocao diante do passado reconstitutiva
num sentido forte: recuperar aquilo que o pai foi como pessoa, no
simplesmente aquilo que foi como pai e em relao s filhas."
Nesse e em outros casos, entender significa pr-se no lugar do
ausente. A descoberta dos restos do pai desaparecido poderia se
transformar, no projeto do filho, na restaurao desse homem em
seulugarpoltico. O filho levaria o pai ao lugar a que ele pertenceu:
"No sei como vou reagir se o encontra.Vou vel-lo no sindicato.
Ele tinha paixo pelo sindicato"." Evidentemente, o
lue
se recupe-
ra a morte e o que precedeu a morte; no se recebe o perdido, mas
parece possvel chegar a entender a perda.
Poronde passao mainstreamdosfrlhos de desaparecidos: por
Carri ou pelos rapazes mais modestos do filme de Guarini e pela
compilao de Gelman e La Madrid, que no ven'l inconvenientes
em se identificar com um grupo verdadeiramente existente, esta-
belecer laos nacionais e internacionais e, digamos assim, compor-
tar-se como pessoas cr.rjo sofrimento lhes permitiu acreditar que
conseguiram entender os pais e as idias que moveram sua mili-
tncia? A origem social dos desaparecidos pode ser parte de uma
chave dessas diferenas.
#
Num lado, esto os filhos de operrios (uns 30% dos desapa-
rccidos o eram):
"Que
aconteceu com esses rapazes cujo pai era
delegado sindicai deffcae cuja muher no eraacompanheira,
ras a esposa? outra realidade social... Esses rapazes tm, na
rrrelhor das hipteses, uma viso diferente da nossa sobre o desa-
lrarecimento.
A nossa talvez seja mais intelectual".'e No outro
cxtremo social e cultural esto os fiIl'ros crescidos em famlias que
nao repudiavam a rnilitncia e que conheceram amigos e compa-
rrlrciros que podiam falar de seus pa.is com um afeto consolidado
rn cxperincia poltica comum. Carri parte de uma comunidade
tlrrc conheceu seus pais, por isso est em condies de tratar seus
r.cprcsentantes,AciraArgumedo e Lia Pastoriza, com a indiferen-
\
i r.i rn pouco distrada com que escutamos duas tias cujas histrias
jii ouvimos muitasvezes. Esa desateno no socialmenteveros-
simil nem existe nos rapazes a quern, durante toda a infncia, foi
ncgada a histria dos pais e de quem os avs, ressentidos com as
escolhas dos flhos ou genros, roubaram at as fotografias.
As histrias detalhadas dos desaparecidoS"circularam em
comunidades de amigos e familiares, com,fieqncia no exlio, em
grupos inteiectuais ou classes mdias, que no existiram quando as
vtimas foram rnernbros dos setores populares, cujas farnlias em
rrrutos casos se esforaram ern esquecer os desaparecidos, Os
lhos desses miiitantes esto desesperados com a histria dos pais,
porque ali a fratura no foi s a da ditadura, mas a forma como a
-atura se agavou pelo silncio. Basta percorrer os testemunhos
publicados por Gelman e La Madrid para que essas diferenas sal-
iem aos olhos.
No h, ento, urna
"ps-mernria'l
e sirn formas da mem-
ria que no podern ser atribudas diretamente a uma diviso sim-
ples entre memria dos que viveram os fatos e mernria dos que
so seus fihos. ciaro que ter vivido un acontecimento e recons-
titu-lo atravs de inforrnaes no a n-lesnea coisa. \4as todo pas-
7r2
sado seria abordvel somente por um exerccio de ps-mem ria,a
no ser que se reserve esse termo exclusivamente para o relato (seja
ele qual for) da primeira gerao depois dos fatos.
No caso dos desaparecidos, a ps-memria tanto um efeiio
de discurso como uma relao particular com os materiais da
reconstituio; com os mesmos materiais se fazem relatos decep-
cionantes e cheios de furos ou reconstituies precrias, que, no
entanto, sustentam algumas certezas, embora inevitavelmente
permaneam os vazios daquilo que no se sabe. Mas isso
-
o que
se desconhece
-
no um efeito da memria de segunda gerao,
e sim uma conseqncia do modo como a ditadura administrou o
assassinato.
113
6. Nm da experincia
Os "fatos histricos" seriam inobservveis (invisveis)
se no
estivessem articulados em algum sistema prvio que fixa seu signi-
ficado no no passado, mas no presente. S a curiosidade do anti-
qurio ou a pesquisa acadmica mais obtusa e isolada da socieda-
de poderiam, hipoteticamente, suspend",
"
urtfuao valorativa
com o presente. A curiosidade tem uma'extenso limitada ao gru-
po de colecionadores. Sobre a pesquisa, RaymondAron, que difi-
cilmente poderia ser confundido com um relativista, afirmava que
a histria tem valor universal, mas que essa universalidade hipo-
ttica e "depende de uma escolha de valores e de uma relao com
osvalores queno se impem atodos os homens e mudam de uma
poca paruoutra".
t
A histria argumenta sempre.
Como se disse no comeo, o passado inevitvel e acomete
independentemente da vontade e darazo. Sua fora no pode ser
suprimida seno pela violncia, pela ignorncia ou pela destrui-
o
simblica e materal. Por isso mesmo, essa fora intratvel
desafia o acordo institucional e acadmico, mesmo que esse acor-
do tenha por vezes imaginado uma sepaao metodolgica em
tr4
relao ao sistema devalores que definem o horizonte de onde se
reconstitui o passado. Os relatos de circulao extra-acadmica
so escritos partindo da suposio de que existe o princpio valo-
rativo. Seu lugar a esfera pblica no sentido mais ampio, e ali eles
concorrem.
Os testemunhos, as narraes em primeira pessoa' s re-
constituies etnogrficas da vida cotidiana ou da poltica tam-
bm correspondem s necessidades e tendncias da esfera pbli-
ca.
Quando
no se trata de autobiografias de escritores, tomam
a palavra no testemunho e na narrao em primeira pessoa
sujeitos at ento silenciosos. Numa signifcativa coincidncia,
tambm esses sujeitos contam suas histrias nos meios de co-
municao.
H mais de trinta anos, uma histria militante otganrzava
seus protagonistas ao redor de um conjunto de oposies sim-
ples: nao-imprio,
povo-oligarquia, para citar dois exem-
plos clssicos. Eles formavam o povo dos explorados, dos tra-
dos, dos pobres, da gente simples, dos que no governam, dos
que no so letrados. Hoje o elenco de protagonistas novo ou
recebe outros nomes: os invisveis do passado, as mulheres) os
marginais, os submersos, os subalternos; tambm os
jovens,
$upo
que atingiu sua existncia mais teatral, esttica e polti-
ca no Maio estudantil francs, mas que antes tinha conferido
estilo aos primeiros anos da Revoluo Cubana, depois ao Cor-
dobazo* e a quase todos os movimentos guerrilheiros ou ter-
roristas dos anos 1960 e 1970. os
jovens como fora curativa da
nao ou da classe, a juventude como etapa de healing,tema
*Rebelio
popular ocorrida na cidade de Crdoba, em maio de 1969, em repdio
ao regime do general-presidente Juan
carios ongana, marcado pela estagnao
econmica e pelabancarrotade centenas de empresas' O Cordobazo foi o prilrei-
ro de uma srie de levantes operrios em vrias cidades e da guerrilha urbana na
tugentina.
(N. T')
l
i
.::
ii; '
r.*b,r:
115
que o arielismo*
do comeo do sculo xx j
tinha apresentado
em toda a Amrica Latina. E, sob as ditaduras,
de prom"ssa
de
renovao
os jovens
passaram
a ser vtimas (a metade dos desapa_
rccidos argentinos
pertence a esse grupo).
A enumerao
coincide curiosamente
com os novos campos
cle pesquisa.
contempornea
do que se chamou nos anos
po
e
I980 a "guinada
lingstica,'da
histria, ou muitas vezes acompa_
nlrando-a
como sua sombra, produziu_se
a guinada subjetiva:
"Trata-se,
de certo modo, de uma dem ocratizao dos atores da his-
tria, que d a palavra aos excludos, aos sern_ttulo,
aos sem_voz. No
contexto dos anos posteriores
a 196g, tatou_se tambm
de um ato
poltico:
Maio de 1968 foi uma gigantesca
tomada da paavra; o que
vcio depois iria inscrever
esse fenmeno nas cincias hum"rrur,.ar_
tamente, mas tambm nog+neios de comunicao _
rdio ou tele_
vi53e
-,
que comeam a solicitar cadavezmais
o homem da rua,,.,
O que este livro analisou pode ser explicado
por essa guinada
terica e ideolgica,
embora a explicao no esgote o potencial
cultural dos relatos de memria. Eres se*dtaberecern
em um,.tea-
tro da memria" que foi desenhado
antes e ondles encontram
um espao que no depende s de reivindcaes
ideolgicas,
pol_
ticas ou identitrias,
rnas de urna curtura cie poca que influi tanto
nas ristrias acadmicas
corno nas que circulam no mercado.
Tentei assinalal alguns dos probemas
que a primeira pessoa
colocava
na reconstituio
do passado
mais recente. A primeira
pessoa indispensvel
para restituir aquilo que foi apagado pela
vioincia do terrorismo
de Estado; e> ao mesrno tempo, no pos_
"Enr
1900, o uruguaio
Jos Enr.ique Rocl pubicou o opsculo Ariel, que teve
inrensa repercusso e foi refernciaparavriasgeraes
de inteiectuais. Base
terica da onda de pensarento
nacionalista que se estendeu por todo o contr'-
nente, o arielismo propugnav
a defesa das tradies hispnicas como fonte
primordia
da cutura latino-americana,
que ..turiu ,-.uuda pero cosmopo-
itismo e pelo materiaismo. (N.
T.)
ll
svel ignorar as interrogaes que se abrem quando ela oferece seu
testemunho daquilo que, de outro modo, nunca se saberia, e tam_
bm de muitas coisas em que ela, a primeira pessoa, no pode
demonstrar a mesma autoridade. De todas as matrias com que se
pode compor uma histria, os relatos em primeira pessoa so os
que demandam maior confiana, e ao mesmo tempo so os que se
prestam menos abertamente comparao com outras fontes. A
demanda de crena exigida por quem pode dizer..Falo porque
sofri na prpria carne o que conto', se projeta sobre outro (ou
o
mesmo) sujeito, que afirma: "Digo
isso porque soube diretamen_
te". O primeiro detm a anJise, pelo menos at que muito tempo
tenha se passado; mas o segundo no teria motivos para det-la.
como se v, uma questo de limites: onde passa a fronteira entre
a experincia do sofrimento e outras experincias desse mesmo
sujeito?
Tentei explorar esses limites, sabendo no haver uma frmu-
la que indicasse como tra-los de modo definitivo e sabendo tam-
b'm que devia lidar com idias que iam em direes distintas: o
potencil da primeira pessoa para reconstituir a experincia e as
dvidas que o recurso primeira pessoa gera quand,o se coroca no
ponto onde parece mover-se com mais naturalidade:
o da verdade
dessa experincia.
I
no possvel prescindir de seu registro, mas
tambm no se pode deixar de problematiz-lo.
A prpria idia de
verdade um problema.
se tivesse de faiar por mirn, diria que encontrei na liieratura
(tao hostil a que se estabeleam
sobre ela limites de verdade) as
imagens rnais exatas do horror do passado ecente e de sua textura
de idias e experincias. Em Glosa,luanJos saer coioca a poltica
como o rnotivo aparentemente
secundrio
-
mas subterrneo
-
'ce
uma fico que transmite o que de mais exato ri sor:re a solido
177
social do militante, o vazio por onde ele se desloca com o automa-
tismo de um desfecho previsto, e sua morte. No romance de Saer,
o comprimido deveneno que carregavam alguns combatentes gue-
rilheiros, sobre o qual se fala muito pouco nos testemunhos, uma
espcie de centro secreto, de caminho seguro rumo ao domnio
sobre a prpria morte. O comprimido um talism que repesenta
o tudo ou nada de uma luta e daoviolenta uma espcie de fi.rl-
gor metaftsico negativo: um Nada seguro.
Quando
o guerrilheiro j
no tem condies de escolher um caminho, escolhe a morte. o
final de quem no ter a experincia da priso nem da tortura, por-
que j passou o momento em que um retorno possvel.
Em Duas vezes junho,
Martn Kohan explorou a perspectiva
do oficial repressor e do soldado raso para organizar uma"figura-
o
do horror artisticamte controlada?'.'Um rigor formal extre-
mo permite que o romance se inicie comumaperguntailegvel:"4
partir de que idade se pode comessar
Isic]
a torturar uma criana?".
Sem o controle artstico, essa pergunta inicial impediria constrir
qualquer histria, porque a escalada do horror afgrnaria intransi-
tvel, obscena. Congelada e ao mesmo tempo conservada pela nar-
rativa "artisticamente controlada", a fico pode representar aqui-
lo sobre o que no existe nenhum testemunho em primeira pessoa:
o militar que se apropria de crianas, mergulhado no que Arendt
chamou de banalidade do mal; e o soldado que o assiste com disci-
plina, totalmente imune emoo, esse sujeito de quem tampou-
co h vestgio testemunhal: aquele que soube o que acontecia nos
cativeiros clandestinos e considerou aquilo uma norrnalidade no
submetida exame (o ponto extremo dos que pensaam que era
melhor no se meter). Aquilo que no foi dito.
No comeo de Los planefas, Sergio Chejfec escreveu:
'Aquela
notcia falava de restos humanos espalhados por uma extensa
superficie. H uma palavra que descreve isso bem: regados. Mem-
bros regados, repartidos, arrumados em crculos imaginrios em
u8
torno do centro inequvoco, a exploso. Para qualquer lado que se
fosse, ainda a centenas de metlos se podia topar com vestgios, que
alis jno eram mais que sinais mudos, aptos apenas para o ep-
logo: os corpos desfeitos depois de terem sofrido, separados em
pedaos e dispersos". A notcia abre um cenrio de morte que
nunca foi descrito desse modo. O romance fica marcado, da em
diante, por essa paisagem de restos humanos dispersos, que se cor-
responde com o desaparecimento do amigo. A fora da descrio
sustenta algo que no pde passar pela erperincia, mas sim pela
imaginao que trabalhou sobre indcios mnimos, suposies,
resultados do "sonho darazo" tepessoa. Essas breves linhas cer-
cam a cratera, o desaparecimento do amigo, em torno do qual
-
mas no sobre ele-se estender o romance. desnecessrio saber
se Chejfec se remete a uma dimenso autobiogrfica, porque a
fora da cena no depende disso.
Visitei Terezin, a cidade- fo rtalezab arro ca- camp o de concen -
trao, por causa de Sebald. Da utopia do no saber, de nunca mais
encontrar lembranas nem vestgios que forcem a memria de seu
passado de criana que escapou dos nazistas e chegou sozinha
Inglaterra, o personagemde Austeilitzpassa, com a mesma unla-
teralidade e o mesmo carer absoluto, utopia da mais obsessiva
reconstituio do passado. Sebald mostra entre quais extremos se
move qualquer empreendimento reconstitutivo: desde a perda
radical da identidade at a alienao na lembrana empurrada
pelo desejo, sempre impossvel, de uma memria onisciente.
A literatura, claro, no dissolve todos os problemas coloca-
dos, nem pode explic-los, mas nela um narrador sempre pensa de
foradaexperincia,
como se os humanos pudessem se apoderar do
pesadelo, e no apenas sofr-lo.
119
2. cRTICA Do rsrEMUNHo: sutErro E EXIERTNcr
[pp.
23-44]
I. Annette Wieviorka, L're du tmoin,Pars,Pion, 1998, p. 12.
Z.Walter Benjamin, "O narrador: Consideraes sobre a obra de Nikolai
Leskov']em Magiaetcnica, arteepoltica: Ensaios sobreliteraturaehistriadacul-
tura, So Pauio, Brasilien se, I994.
3.'Ach, wen vermgen/ wir denn zu brauchen? Engel nicht, Menschen
nicht,/ und die findigen Tiere merken es schon,/ dass wir nicht sehr verlsslich zu
Haus sind/ in der gedeutetenWelt" (RainerMaria Rilke,"Primeira elegia",emEle-
gias de Duno,traduo de Dora Ferreira da Silva, So Paulo, Giobo,2001. Daqui
em diante, salvo indicao em contrrio, todas as tradues so minhas).
4.
Jean-Pierre
le Goff, Mai 68, I'hrtage impossible, Paris, La Dcouverte,
2002
119981,p.3a.
5. Com uma perspectiva crtica, , no entanto, exaustivo o panorama pro-
porcionado por Luc Ferry e Alain Renault, em La pense 68. Essai sur I'anthuma-
ni sm e contemp or ain, P ars.Galimard, I 985.
6. O artigo de Paul de Man,'Autobiography as de-facemenC', apareceu pela
primeiravez em MLN, ComparatfueLterature,vol.94, no 5, dezembro de 1979. O
vro de Plriippe Lejeune, Le pacte autobiografrque, foi publicado em Paris, pela
Seuil' emL9j5s
Derrida, otobiog.aphies: L"seignentent deNetzsche etlopoh;
qLLe du nom propre, Paris, Gaile, 1984. Publieado no i seguinte, com acrsci-
mos, em ings como T|te ear of the other,NoiaYork, Schocken Books.
8.Em EI espacio autobiogrfico (Barcelona, Lumen, 199 i
),
Nora Cateli ofe-
rece uma exposio clara dos escritos de Paul de Man sobre o tema.
9. Comentrio de Giorgio Agamben aos textos de Primo Levi ern Lo qu"e
queda de Auschwitz.Yalencia,Pretertos, 2000
|
1998] .
i 0. Entrevista de Primo Levi a Marco Vigevani, em Conyersazion e intervis-
ti, 1963-1987, de Levi, Turim, Einaudi, !997,p.226.
I 1. Paul Riceur, Ia nntoire,I'histoit'e,I'oubli,Paris,Set1,2000,p.222.
12. O mesmo acontece com a palavra "genocdio']
cujo uso extensivo aos
mais diversos cenrios j foi discutido o suficiente por Hugo Vezzetti em Pasaclo
y preselxte, Buenos Aires, Siglo xxt Editores, 2002, e na srie de seus artigos em
Punto deVista,desde os anos 1990.
13. Veja-se Leonor Arfuch, op. cit.; eleonor Arfuch
(comp
.),ldentdad.es,
nrjetos, subjetit,idades, Buenos Arres, Prometeo Libros,2003. No se pode deixar
de assinalar o carter pioneiro das pesquisas de Fhilippe Lejeune sobre o espao e
o pacto autobiogrfico, assim como os estudos de Georges Gusdorf e
jean
722
starobiaski. Mas tanto Gusdorf como starobinski se antecipam moda contem-
pornea e no pertencem a ela.
14. Geoffrey Hartmann, crtico literrio e responsvel acadmico pelo
arquivo do Holocausto da universidade deYale, assinala essa dimenso: "o dever
de escutar e de restabelecer um di:logo com pessoas que foram marcadas por sua
experincia de tai modo que a integrao total na vida cotidiana apenas aparen-
te" (em Wievo rka, op. cit.,p.74l).
15. Homi Bhabha, O local da culturq Belo Horizonte, Editora uFMG,2003;
e "DissemiNation:
Time, narrative and the margins of the modern nation,i em
Homi Bhabha (ed.),
Nation and narration,Londres, Routledge, I991.
16. Odilio A.lves Aguiar, "Pensamento e narrao em Hannah Arendt,,, em
Newton Bignotto e Eduardo
Jardim de Moraes (orgs.),Hannal.tArendt:
DiIogos,
reflexes, memras,BeIoHorizonte, Editora upuc, 2001.
17. Didier Guivarc'h,Lanmoire collective. Delarecherche I'enseignentent.
Groupe de Recherche cn Histoire Immdiate, ecastex@univ-tlse2.fr.
18. Escreve Vezzetti:"fa memria] tende a ver os acontecimentos de uma
perspectiva nica, rejeita a ambigidade e at reduz os acontecimentos a arquti-
pos fixos'i
19. Penso no discurso mimtco entre crtica de arte e monumentos e con_
tramonumentos. Veja-se, por exemplo:
|ames E.
young,
At memory's edge After-
images in conteffiporary art clnd ctrchitectrzr, Novayork e Londres,
yale
universitlz
Press,2000. Contrariamente, a anlise deAndreas Huysseu sobre a obra de
Anselm Kiefer permite pensar numa inte'veno esttica que tem o passado
como objeto de uma perspectiva que no reproduz o discurso do artista sobre sua
obra (Enbusca delfuturo perdido: cultura y ntemoria en tiempos de globalzacn,
Buenos Aires, EcE, 200 1
).
3.
RErRrcA TESTEMUNHAL
[pp. 45-65]
l. "Mencionei a cescente i'rpo'tncia do Holocausto como acontecimer-
to fundacional da memr.ia no s eur opia. Essa percepo no podia se dar por
evidente. Durante vrias dcadas, diante da gigantesca confiontao miitar.da
segunda Guer ra Mundial, tendeu-se a trata o assassinato em rassa dos judeus
como algo mais perifrico, um epiacontecimento, por assim dizer. Hoje o olharnos
de outra perspectiva. o Holocausto passou a ocupar o centro da conflagr.ao e se
tornou o acontecimento nucear negativo do sculo xx. Temos razes para du'i-
dar que essa perspectiva correspoirdesse s percepces histricas de seus conterr -
porneos" (Dan Diner, "Restitution
and memory
-
The Holocaust in Europea.
political cultures", New Gernnn Critque,no 90, outono de 2003, p.43).
r23
2. Nos ultimos anos,
Por
exemPlo, a discusso sobre museu e monumento
abriu outro captulo. Veja-se, no caso argentino: Graciela Siivestri, "Memoria y
monumento. El arte en los lmites de Ia representacin", publicado em Punto de
Vista"r,P6S,dezembro de2000,e reproduzido emL.Arfuch
(comp.),Identdades,
sujetos, subjetividades, op. cit'Tambmos estudos de Andreas Huyssen para os
:
casos norte-americano e alemo.
3. Paul Riceur, Tempo e narrativa, Campinas, Papirus, 1995. Sabe-se que
Riceurretoma e aperfeioa as noes de histria e discurso propostas por E. Ben-
veniste e H. Weinrich, preocupando-se especialmente em considerar a capacida-
de do relato de se desdobrar em duas temporaidades, a do momento de contar e
a do tempo do narrado. Essa capacidade constitui sua dimenso reflexiva origi-
na, que o habilita, de um ado, a exPor uma experincia fictcia do tempo e, de
outro, a ficar ligado ao tempo em que se esceve essa experincia'
4. Maurice Halbwachs, A memria coletva" So Paulo, Vrtice' 1990'
Annette Wieviorka afirma qu-e o testemunho se desenrola de ngulos "que per-
tencem poca em que se realiza, a partir de uma interrogao e de uma expecta-
tiva que tambm lhe so cnternporneas, atribuindo-lhe fins que dependem de
apostas polticas ou ideolgicas, que contribuempara criar uma ouvrias mem-
rias coletivas errticas em seu contedo, em sua forma, em sua funo e em sua
finalidade"
( op. cit., p. 13).
5. Ricceur, la z moire' l'histoire, I' ouhli;pp. 3A7 -8'
6.Yezzetti, op. cit., p. I92.
7,Ijcc:ltr, La mmore, I'histoire, I' oubli.pp- 204-5'
B. muito interessante o caso da Conisso da Verdade e Reconciliao
peruana. como aponta christopher van Ginhoven Rey, a cvn "reconheceu desde
. o incio que o testemunho' tambm uma forma de processar um luto longamen-
te postergado', um'instrumento teraputico' essencial para a reconciliao, na
medida em que toda transio procura reconciliar no s a sociedade civil consi-
go mesll]a, mas tambm a Igica poltica com a 1gica do uto"
("La construccin
delafuenteylosfundamentos
de lareconciliacin en el Per:Anlisis dellnforme
nal de Ia comisin de Iaverdad y Reconciliacin", mimeo, departamento de
espanhol e portugus, Universidade de NovaYork,2005)'
9, Paul Riccur, Tempo e rtarrativa,vol.l-
10. Wieviorka, oP' cit.,
P.
126.
1 1. Assim funcionam os detalhes num relato to clssico e verossmii como
a non
fictonoto
romance documental de Miguel Bonasso, EI presidente que no
/ue,
Buenos Aires, Paneta, 1997
'
Por mais de seiscentas pginas se rePetem as
observaes mnimas: o modo como Hctor Cmpora mastiga um bife, seus
olhares para as muheres, seu terno enfeitado. A verdade do que Cmpora diz ou
L24
faz na esfera poltica est apoiada na crena construda por esses detalhes, que
integram um "dispositivo de prova". Veja-se B. S., "Cuando la poltica era joven
l
Punto deVista,no 58, agosto de 1997. Nesse artigo tambm se menconaLavolun'
tad. eMarln Capars e Eduardo nguita, Buenos Aires, Norma, 1997 e 1998.
l2.AliciaPartn oy,TheLittle School:Tales ofdisappearance andsurvival.San
Francisco, Midnight Editions, 1986. Chego a este livro graas a Francine Masiello.
Sobre Partnoy, veja-se Diana Tayl or, Disappearing acts: Spectacles of gender and
nationalism in Argentina's" Dirty War", Durham e Londres, Duke University
Press, 1997, pp. 162 ss.
13. Cristina Zuker, EI tren de Ia vctoria: Una saga
famillar,
Buenos Aires,
Sudamericana, 2003.
14. Elizabeth Jeiin
escreve:'A memria uma fonte crucial para a histria,
mesmo (e especialmente) em suas tergiversaes, em seus deslocamentos e nega-
es,
que colocam enigmas e
Perglntas
abertas pesquisa" (Los trabajos de Ia
memora"Madri, Sigloxxr de Espanha Editores- Siglo nv deArgentina Editores,
2002,p.75).
15. Retomo algumas idias de meu trabaho paxo e a exceo, So Pauo
e Belo Horizonte, Companhia das Letras e Editora da urMc' 2005.
16. Georges Didi-Huberman, Devant le temps: Histoire deI'art et anachro-
nisme des images,Paris, Minuit, 2000, pp. 36-7' De acordo com Jacques
Rancire,
Didi-Huberman sugere que esses objetos nos colocam diante de um tempo que
ultrapassa os marcos de uma cronologia:
"Esse tempo, que no exatamente o
passado, tem um nome: a memria
[...]
q"e humaniza e configura o temPo,
entrelaa suas fibras, assegura as transmisses e se condena a uma essencial impu-
reza
1...1.
Amemria psquica em seu
Processo,
anacrnica em seus efeitos de
montagem, de reconstruo ou de'decantao' do tempo. No se pode acear a'
dimenso memorativa da histria sem aceitar,
junto com ela, sua fixao no
inconsciente e su dimenso anacrnica". A citao de Rancire de "Le concept
d'anachronisme er la vrit de I'historien I
tlnactuel,no 6,1996. Em seu trabalho
muito interessante sobre a memria popular do fascismo (Fascivn in popular
mentory,canrbridge, cambridge univer sity Press, 1987), Luisa Passerini trabala
sobre os deslocamentos de tempo e de interpretao, assinalando que o testemu-
o ineludvel na medida em que o objeto do historiador for recoustituir a orma
como uma colfigurao de fatos impactou os sujeitos contemporneos a eles'
17. Uma antologia de textos e um panorama histrico podem se encontra-
dos em Beatriz Sarlo,Labatalla delas ieas,Buenos Aires,Ariel,200l, em que Car'-
los Altamirano escreveu o captulo sobre as posies nacional-populares. clau-
dia Giman estudou os debates intelectuais nesse perodo num livro excelente: Ia
plumayla espada, Buenos Aires, Siglo xx1,2003. Para uma perspectiva compara-
t25
tiva com o caso francs, veja-se o j citado livro de
Jean-Pierre le Goff, que reali-
za, a propsito do Maio de 1968 e dos anos seguintes, um estudo cujo eixo a his-
tr'ia das ideias.
18.Veja-se o "Estudio preliminar",cap.2,"Cristianos en elsiglo'l em Beatriz
Saro, In batalla de las idcas, op. cit.
I9. A mais proeminente, seguramente, foi o trabalho de
]uan Carlos Por-
tantiero e Miguel Murmis, Estudos sobre as ctrigens do peronismo, So Paulo,
Brasiiense, 1973.Yeja-se,para uma histria das idias sobre o peronismo, Carios
Altamirano, Bajo el signo delas masas,Buenos Aires, Ariel Historia,2001.
20. A importnca de uma revi stacamo Pasadoy Presente,eda srie de obras
das rnais diversas linhas da tradio marxista surgidas nos Cuaclernos de Pasao y
Presente, dirigidos por
Jos
Aric, no um dado isolado nem excepcional do
perodo. Pasado y Presente reptesenta o nve intelectual mais sofisticado, mas
fazia parte de um campo de publicaes, no qual os fasccuos do Centro Editor
de Amrica Latina (que se vendiam em bancas de jornais s dezenas de mihares)
obtinham a maior difuso em massa. As colees do Centro Editor, como Siglo-
mut'rdo (dirigida por
iorge-afforgue), Historia del sndicalismo (dirigda por
Alberto Pl), e mesmo Polmica, uma histria argentina dirigida por Hayde
Gorostegui de Torres, com maior participao dos historiadores profissionais,
formavam uma biblioteca poltica popular, que podia ser encontrada em toda a
Argentina,
21. A captao do clima ideolgico , em contrapartida, exaustiva numa
obla muito sensve tambm representao de sensibiliades revolucionrias,
como a biografia de Roberto Santucho e a histria do
pnr,
d eMariaSeoane,Todo
o nada (Brenos Air:es, Sudamerica, 199 i
).
Mas se trata de uma histria, com fon-
ies documentais de todo tipo. e no siilplesmente rle uma reconstituico base
de testemunhos.
22. Paolo Rossi, El pa-ca do, la memorn, el olvido, Buenos Aires, Nueva
Visin, 2003, pp. B7-8.
4.
EXPER.rNCrA E, ARcUMENTA-O
lpp.
6S-BS]
.
Jererny Popkin ("Holocaust Memories, Historias'emoir s", Hstory o-nd
Mentory,vol.15, nu 1, primavera-rrero de 2003) estucla as memrias sobre a per-
seguio aos judeus e o Holocausto escritas por historiadores pofissionais. Suas
observaes interessantes dificilmente podem ser projetadas no caso de um cien-
tista social corno pola, por duas razes: Popkin s anaisa memrias e autobio-
glafiasno estrito sentido genrico; e estas, difereniemente do texto de"Labemba'l
foram escritas bem depois dos fatos que narram.
726
2. "La bemba'l de Emilio de pola, foi includa e m Ideologa y discurso popu-
/lsra" Buenos Aires, Folios Ediciones, 1983. H uma edio de Siglo xxl, Buenos
Aires,2005.
3. Formado em filosofia pela Universidade de Buenos Aires, em 1964, e
doutor pela universidade de Paris, em 1 969. Em 1 970, quando exercia a docncia
na universidade de Montreal, recebeu um convite da Faculdade Latino-Ameri-
cana de Cincias Sociais (rlacso), com sede em Santiago, parajuntar-se ao corpo
de professores-pesquisadores.Aceitou
e, em 1971,mudou-separao Chile. Depois
do golpe de Pinochet, a FLACso iniciou negociaes com o governo de Cmpora
para criar uma sede em Buenos Aires (mantendo
a princpio a de Santiago). As
negociaes prosperaram) mas foram interrompidas pouco depois da renncia
de Cmpora. De toda maneira, a rracso manteve a sede em Buenos Aires como
instituio privada. pola foi nomeado membro do comit de Direo e profes-
sor. Instalou-se em Buenos Aires em 1974. Entre 197 4 e i 976, viajou vrias vezes
a Santiago, por motivos administrativos e de pesquisa. Nessas viagens, a pedido
dos interessados costumava levar correspondncia para membros de organiza-
es
de esquerda chilenas, em particular para o Movimiento de Accin
popular
unitria obrero campesino (varu
oc), o
partido
socialista e o Movimiento de
Izquierda Revolucionaria (r,an). No diaT de abril de 1976, por volta das duas da
madrugada, foi preso em casa por um comando do
primeiro
corpo do Exrcito,
transferido para a superintendncia de segurana, interrogado, torturado (sub-
marino) e finalmente posto disposio do
ppN
no dia 12 de abril. Ficou pouco
mais devinte meses na priso.saiu"por opo", no contexto do artigo 23 da cons-
tituio' modificado pela
Junta Militar (a norma modificada autorizava o preso a
solicitar a sada do pas,mas esse pedido podia ser negado).viajou a
paris
no final
de 1977
'
Em maro de 1978 juntou-se
sede mexicana da FLACSo. Residiu no
Mxico at maro de 1984. Desde ento vive na rgentina.
4. Pilar Calveiro, Poder y desaparicin: Los campos de concentracin en
Argentina,Buenos Aires, Colihue, i 998.
5.
|uan Gelman, "En ei campo de detencin ests en otra dimensin',,
Pgina/ I 2, 1o de novembro de I 998.
5.
rs -realrRr, RECo\TSr rurES
[pp. 9
o-rr3
]
I .
Jarnes
E. Young, op. rlr.
2. Marianne Hirsch, Family
frames;
photography, na.rratye and postne,
nrory, Cambridge (Mass.)
e Londres, Harvard University
press,
1997.
3. Art Spiegelman, Maus- Ahistra e um sobreviyente,so
paulo,
Corn_
panhia das Letras, 2005. A respeito de Maus, Aacreas Huyssen assinaa que sua
114
mistura da esttica de quadrinhos com elementos vindos da tradiSo modernis-
ta, numa palavra, a"complexidade de sua narrao no s um procedimento
esttico
[...]
mas provm do desejo da segunda gerao de conhecer o passado dos
pais, do qual j fazem parte, queiram ou no: um proj eto de aproximao mim-
tica do trauma histrico e pessoal que liga vrios nveis de tempo"
(Present pasts,
urbanpalimpsests andthepolitics of mernory,Stanford, StanfordUniversityPress,
2003,p.r27).
4. Mara Laura e Silvinai em ]uan Gelman e Mara La Madrid, Ni eI
flaco
per'
dn de dios. Hijos de desaparecidos,BtenosAires,
Planeta, i997'
5. Hirsch, oP. cit., p.244.
6. James
E.Young, oP, cit',P'66.
7. Georges Didi-Huberman, In ages malgr tou'; Paris, Editions de Minuit'
2003,p.2L
8. James
E. Young, oP' cit.,
P.
17 0.
9.Ibd.,p.92.
10, Um relato histrico qe teve divulgao macia e forte poder de cons-
truo imaginria e poltica a$oiou-se em obras e inteffenes de autores con-
temporneos do primeiro peronismo, como Rodolfo Fuiggrs, ]orge
Abelardo
Ramos, Arturo |auretche
e Juan Jos
Hernndez Arregui. vejam-se,
Para
seus
antecedentes conceituais, Carlos Altamir no, op. cit.; ebeattiz Saflo, Labatalla
delasideas,oP. cit.
n-4
71. Los rubios.Direo: Albertina carri; produo: Barry Ellsworth; assis-
tentes de direo: Santiago Giralt e Marcelo Zanelli; fotoFfa: Cataina Fern:n-
dezi cmerat carmen Torres; montagem: Alejandra Almirn; trilha sonora:
Ryuichi sakamoto, charly Garca evirus; som: |sica
surez; desenho de produ-
o:
Paoa Pelzmajer; intrprete: Aaala Couceyro' BuenosAires' 2003'
12. Martn Kohan,"La apariencia celebrada", emPunto deVisfa' no 78' abril
de2004,p.28.
I 3. Victoria, argentino -mexicana, vinte anos (La histo ri a e s sfrL documen-
trio de )orge
Denti). Citado em Gelman e La Madrid, op' cit',p' 65'
14. Patricia, ibid.,P. 187.
15. Ofeia, ibid.,P' a9'
I6. Daro, ibid.,P'9a.
17 Gelman e La Madrid, op. cit.,pp.19-32' Tmbm o flme Hfos' de Car-
menGuarini.
18. Fernando, ibi''
P.
123'
1 9. Silvia
(Crdoba)' ib d., p. 136.
6. arrr oe rxprnrNcrA
Ipp.
rr4-u9j
l. RaymondAron,"Introduccin" (1959) aMaxWeber, El poltico y eI cien-
tfco, Madri, Nanza, L9 67, p. 49.
2. A. Wieviorka, op. ct., p. 128.
3. Miguel Damaroni, "La moral de la historia: Novelas argentinas sobre la
dictadura'l Hiqp am ricq ano wxrr, no 96, 2003, p. 3 8.
128
Você também pode gostar
- A Cidade Secreta Do Vril - M. C. Pereda PDFDocumento259 páginasA Cidade Secreta Do Vril - M. C. Pereda PDFmarcela80% (5)
- Mário Pedrosa (Coleção Clássicos e Contemporâneos)Documento69 páginasMário Pedrosa (Coleção Clássicos e Contemporâneos)JosneiAinda não há avaliações
- CARNEIRO, Sueli - Enegrecer o FeminismoDocumento5 páginasCARNEIRO, Sueli - Enegrecer o FeminismoRLeicester100% (1)
- LIVRO - Branquitude e Televisao - Richard SantosDocumento156 páginasLIVRO - Branquitude e Televisao - Richard SantosJesilene Corrêa100% (1)
- História e Literatura: Conexões, abordagens e perspectivasNo EverandHistória e Literatura: Conexões, abordagens e perspectivasAinda não há avaliações
- Jeanne Marie Gagnebin Memoria Historia TestemunhoDocumento9 páginasJeanne Marie Gagnebin Memoria Historia TestemunhoLídia MelloAinda não há avaliações
- Nelson Maldonado-Torres Dez Teses DecolonialidadeDocumento19 páginasNelson Maldonado-Torres Dez Teses DecolonialidadeTalita TavaresAinda não há avaliações
- JANESON, FREDRIC - A Virada CulturalDocumento37 páginasJANESON, FREDRIC - A Virada CulturalDavid100% (1)
- Ensaio Literário No BrasilDocumento46 páginasEnsaio Literário No BrasilAna de OliveiraAinda não há avaliações
- POLLAK. Memória e Identidade SocialDocumento16 páginasPOLLAK. Memória e Identidade SocialLeonardo PerdigãoAinda não há avaliações
- Beatriz Sarlo - Tempo PassadoDocumento132 páginasBeatriz Sarlo - Tempo PassadoGuilherme Oliva100% (1)
- Michel Pollak - Memória, Esquecimento, Silêncio PDFDocumento11 páginasMichel Pollak - Memória, Esquecimento, Silêncio PDFRosanaAinda não há avaliações
- Ardis da imagem: Exclusão étnica e violência nos discursos da cultura brasileiraNo EverandArdis da imagem: Exclusão étnica e violência nos discursos da cultura brasileiraAinda não há avaliações
- Alguns Contos de CortázarDocumento19 páginasAlguns Contos de CortázarclamenceAinda não há avaliações
- O Local Da Cultura - Homi BhabhaDocumento145 páginasO Local Da Cultura - Homi BhabhaIbe Nwofia100% (2)
- Abrir a história: Novos olhares sobre o século XX francêsNo EverandAbrir a história: Novos olhares sobre o século XX francêsAinda não há avaliações
- Danilo Angrimani Sobrinho - Espreme Que Sai SangueDocumento151 páginasDanilo Angrimani Sobrinho - Espreme Que Sai SangueJanaina Haila100% (2)
- O fauno nos trópicos: Um panorama da poesia decadente e simbolista em PernambucoNo EverandO fauno nos trópicos: Um panorama da poesia decadente e simbolista em PernambucoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- O Arquivo e o Repertório Performance e Memória Cultural Nas AméricasDocumento25 páginasO Arquivo e o Repertório Performance e Memória Cultural Nas AméricasWinglison Henrique50% (2)
- Relações Étnico-Raciais e Outros Marcadores Sociais da Diferença: Diálogos InterdisciplinaresNo EverandRelações Étnico-Raciais e Outros Marcadores Sociais da Diferença: Diálogos InterdisciplinaresAinda não há avaliações
- SARLO, Beatriz - Tempo PassadoDocumento44 páginasSARLO, Beatriz - Tempo PassadoHelena Ferreira100% (1)
- O Brasil à procura da democracia: Da proclamação da República ao século XXI (1889-2018)No EverandO Brasil à procura da democracia: Da proclamação da República ao século XXI (1889-2018)Nota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- A literatura como reveladora das vozes sociais do nosso tempoNo EverandA literatura como reveladora das vozes sociais do nosso tempoAinda não há avaliações
- Evola, Julius - Escritos Sobre JudaismoDocumento145 páginasEvola, Julius - Escritos Sobre JudaismoLucas M. BarbozaAinda não há avaliações
- Memória, Esquecimento, Silêncio - PollakDocumento13 páginasMemória, Esquecimento, Silêncio - PollakJônatas S. de AbreuAinda não há avaliações
- 3 Régine Robin Autoficção Bioficção CiberficçãoDocumento10 páginas3 Régine Robin Autoficção Bioficção CiberficçãoHenrique Julio VieiraAinda não há avaliações
- A Republica Dos Bons Sentimentos - MafessoliDocumento128 páginasA Republica Dos Bons Sentimentos - MafessoliLeonardo Izoton Braga100% (1)
- Hierarquias e Formação Social PDFDocumento386 páginasHierarquias e Formação Social PDFDaiane RossiAinda não há avaliações
- Jornalistas e Revolucionarios - Bernardo KucinskiDocumento263 páginasJornalistas e Revolucionarios - Bernardo KucinskiEloisa CristinaAinda não há avaliações
- Pollak. M. A Gestão Do IndizívelDocumento41 páginasPollak. M. A Gestão Do IndizívelRodrigo PennuttAinda não há avaliações
- A história à prova do tempo - 2ª edição: Da história em migalhas ao resgate do sentidoNo EverandA história à prova do tempo - 2ª edição: Da história em migalhas ao resgate do sentidoAinda não há avaliações
- Silviano Santiago - MachadoDocumento359 páginasSilviano Santiago - MachadoFernando CesarioAinda não há avaliações
- Criminosos Viajantes, Vigilantes Modernos. Circulações Policiais Entre Rio de Janeiro e Buenos Aíres. 1890-1930. GALEANO, D. 2012.Documento395 páginasCriminosos Viajantes, Vigilantes Modernos. Circulações Policiais Entre Rio de Janeiro e Buenos Aíres. 1890-1930. GALEANO, D. 2012.Zé Costa100% (1)
- Santo Daime - Fanatismo e Lavagem Cerebral - de Alicia CastillaDocumento80 páginasSanto Daime - Fanatismo e Lavagem Cerebral - de Alicia CastillaRafaelCabral60% (5)
- Josefina LudmerDocumento94 páginasJosefina LudmerRafaela ScardinoAinda não há avaliações
- WEB Du Bois As Almas Da Gente NegraDocumento46 páginasWEB Du Bois As Almas Da Gente NegraYan JobimAinda não há avaliações
- BARBERO, Jean Matin. Dos Meios As MediacoesDocumento38 páginasBARBERO, Jean Matin. Dos Meios As MediacoesTacia RochaAinda não há avaliações
- Prova Enade Curso FARMACIADocumento21 páginasProva Enade Curso FARMACIAgevicentini100% (2)
- Imprensa, Humor e Caricatura: A Questão Dos Esteriótipos CulturaisDocumento11 páginasImprensa, Humor e Caricatura: A Questão Dos Esteriótipos CulturaisLuanna Jales0% (1)
- Barthes e A Escritura: A Leitura e Proposição ExistencialDocumento12 páginasBarthes e A Escritura: A Leitura e Proposição ExistencialLilianneCobb100% (1)
- Carlos Fico - História Do Tempo Presente, Eventos Traumáticos e Documentos Sensíveis - o Caso BrasileiroDocumento17 páginasCarlos Fico - História Do Tempo Presente, Eventos Traumáticos e Documentos Sensíveis - o Caso BrasileiroAlice RochaAinda não há avaliações
- Fichamento TextualDocumento2 páginasFichamento TextualAllanaLetticia123Ainda não há avaliações
- Prolegomenos A Narrativa Mediatica Do Acontecimento - José RebeloDocumento11 páginasProlegomenos A Narrativa Mediatica Do Acontecimento - José RebeloSérgio Ferreira JúniorAinda não há avaliações
- Jacques D'adesky. Pluralismo Étnico e MulticulturalismoDocumento18 páginasJacques D'adesky. Pluralismo Étnico e MulticulturalismoJoao Daniel Daibes ResqueAinda não há avaliações
- Historia Das Revistas PiauiensesDocumento15 páginasHistoria Das Revistas PiauiensesMayara FerreiraAinda não há avaliações
- Texte 2 Chiappini RegionalismoDocumento10 páginasTexte 2 Chiappini RegionalismoSu ZetteAinda não há avaliações
- Carceres Imperiais A Casa de Correção Do Rio de Janeiro Seus Detentos e o Sistema Prisional No Imperio, 1830-1861Documento336 páginasCarceres Imperiais A Casa de Correção Do Rio de Janeiro Seus Detentos e o Sistema Prisional No Imperio, 1830-1861Wlamir SilvaAinda não há avaliações
- VIDAL, Paloma. Literatura e Ditadura PDFDocumento9 páginasVIDAL, Paloma. Literatura e Ditadura PDFRick Afonso-RochaAinda não há avaliações
- Boderlands - La Frontera (Traduzido)Documento203 páginasBoderlands - La Frontera (Traduzido)Andressa QueirozAinda não há avaliações
- A Formacao Do Romance AngolanoDocumento4 páginasA Formacao Do Romance Angolanoabele83100% (1)
- BAKHTIN M Os Generos Do Discurso Organizacao TraduDocumento4 páginasBAKHTIN M Os Generos Do Discurso Organizacao TraduDjefrey SimplícioAinda não há avaliações
- Antonio Candido - Dialética Da MalandragemDocumento21 páginasAntonio Candido - Dialética Da MalandragemPaulo F. Silva100% (1)
- João Cabral de Melo Neto + 17 PoemasDocumento12 páginasJoão Cabral de Melo Neto + 17 PoemasLucas SouzaAinda não há avaliações
- Natalia Monzón Montebello - A Liberdade É Uma Prática - Anotações Extemporâneas Sobre Militâncias e RebeldiasDocumento17 páginasNatalia Monzón Montebello - A Liberdade É Uma Prática - Anotações Extemporâneas Sobre Militâncias e RebeldiasElbrujo TavaresAinda não há avaliações
- Marilena Chaui Repressao Sexual Essa Nossa Des ConhecidaDocumento158 páginasMarilena Chaui Repressao Sexual Essa Nossa Des ConhecidaAylla MilanezAinda não há avaliações
- O Conceito de Identidade Nos Estudos Culturais Britânicos e LatinosDocumento16 páginasO Conceito de Identidade Nos Estudos Culturais Britânicos e LatinosDavissonHenriqueAinda não há avaliações
- LAFETÁ, João Luiz - Os Pressupostos Básicos in 1930 - A Crítica e o ModernismoDocumento12 páginasLAFETÁ, João Luiz - Os Pressupostos Básicos in 1930 - A Crítica e o ModernismoEduardo NavarreteAinda não há avaliações
- Antibiografia - Rsumo e ApendiceDocumento5 páginasAntibiografia - Rsumo e ApendiceMirela ConceiçãoAinda não há avaliações
- A Subversão Pelo RisoDocumento10 páginasA Subversão Pelo RisolinecyAinda não há avaliações
- A Interseccionalidade Na Discriminação de Raça e Gênero K. CrenshawDocumento4 páginasA Interseccionalidade Na Discriminação de Raça e Gênero K. CrenshawDayane Silva100% (1)
- Trabalho de Geografia - América LatinaDocumento6 páginasTrabalho de Geografia - América LatinaAnonymous qR6FLwzAinda não há avaliações
- Protesto Hacker e Direito PenalDocumento171 páginasProtesto Hacker e Direito PenalGabriel Brezinski Rodrigues100% (1)
- METAMORFOSE ARQUITETÔNICA - Intervençoes Projetuais Commtemporâneas Sobre o Patrimonio EdificadoDocumento352 páginasMETAMORFOSE ARQUITETÔNICA - Intervençoes Projetuais Commtemporâneas Sobre o Patrimonio EdificadoAlanaAinda não há avaliações
- Industria de Bebidas Alcoolicas BNBDocumento9 páginasIndustria de Bebidas Alcoolicas BNBPaulo Eduardo Martins de LimaAinda não há avaliações
- Geografia Ensino Fundamental 2010Documento25 páginasGeografia Ensino Fundamental 2010lucas8anoa100% (7)
- Lista OBGP 8º Ano Ao MédioDocumento9 páginasLista OBGP 8º Ano Ao Médiobe.snunes13Ainda não há avaliações
- Falcone Rosa - Género y Enfoque Historico-Social. Las Mujeres en El TiempoDocumento14 páginasFalcone Rosa - Género y Enfoque Historico-Social. Las Mujeres en El TiempoMilagros AlvarezAinda não há avaliações
- AulaDocumento2 páginasAulabatataAinda não há avaliações
- Questao Historia 2fase UnespDocumento7 páginasQuestao Historia 2fase UnespFlávio Alexandre Dos SantosAinda não há avaliações
- Jornalismo e Ética No Século XXIDocumento13 páginasJornalismo e Ética No Século XXIThiago AndradeAinda não há avaliações
- Penha, Eli Alves. Relações Brasil-África - Os Avatares Da Cooperação Sul-AtlânticaDocumento10 páginasPenha, Eli Alves. Relações Brasil-África - Os Avatares Da Cooperação Sul-Atlânticafilipe_nobre1316Ainda não há avaliações
- Recordações de Um Removedor de Mofo No ItamaratyDocumento192 páginasRecordações de Um Removedor de Mofo No ItamaratyTamyres RamosAinda não há avaliações
- Histórias e Memórias de Imigrantes Tchecos No BrasilDocumento78 páginasHistórias e Memórias de Imigrantes Tchecos No BrasiloportaldasvendasnanetAinda não há avaliações
- Roberta Dos Santos VieiraDocumento98 páginasRoberta Dos Santos VieiragabriellefigueredoAinda não há avaliações
- 2015 - Cadeia Produtiva Do Farelo de SojaDocumento19 páginas2015 - Cadeia Produtiva Do Farelo de SojaJoahsy AlvesAinda não há avaliações
- Um Texto Sobre o BrasilDocumento3 páginasUm Texto Sobre o BrasilAkira KomiyamaAinda não há avaliações
- Correiodopovo 18032013 18032013Documento31 páginasCorreiodopovo 18032013 18032013Lú KlinkAinda não há avaliações
- 2004 ArielMacedodeMendonça PDFDocumento230 páginas2004 ArielMacedodeMendonça PDFDandara BatistaAinda não há avaliações
- Música Nativista. Julho2006Documento91 páginasMúsica Nativista. Julho2006Vítor GomesAinda não há avaliações
- 3 EtapaDocumento3 páginas3 EtapaEdson XavierAinda não há avaliações
- Historia LameiraoDocumento2 páginasHistoria LameiraoHenrique LucasAinda não há avaliações
- Beira Foz - Master Plan PDFDocumento136 páginasBeira Foz - Master Plan PDFProjetoIguassu67% (3)