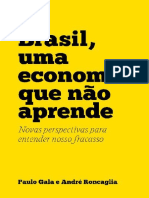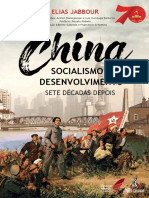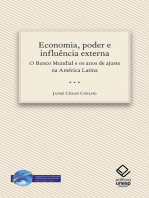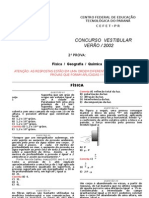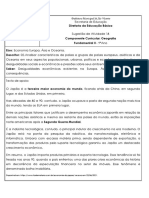Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Livro Achinaglobal
Livro Achinaglobal
Enviado por
Alcir MartinsTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Livro Achinaglobal
Livro Achinaglobal
Enviado por
Alcir MartinsDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Governo Federal
Secretaria de Assuntos Estratgicos da
Presidncia da Repblica
Ministro Wellington Moreira Franco
Presidente
Marcio Pochmann
Diretor de Desenvolvimento Institucional
Geov Parente Farias
Diretor de Estudos e Relaes Econmicas
e Polticas Internacionais, Substituto
Marcos Antonio Macedo Cintra
Diretor de Estudos e Polticas do Estado,
das Instituies e da Democracia
Alexandre de vila Gomide
Diretora de Estudos e Polticas Macroeconmicas
Vanessa Petrelli Corra
Diretor de Estudos e Polticas Regionais, Urbanas
e Ambientais
Francisco de Assis Costa
Diretor de Estudos e Polticas Setoriais
de Inovao, Regulao e Infraestrutura, Substituto
Carlos Eduardo Fernandez da Silveira
Diretor de Estudos e Polticas Sociais
Jorge Abraho de Castro
Chefe de Gabinete
Fabio de S e Silva
Assessor-chefe de Imprensa e Comunicao
Daniel Castro
Ouvidoria: http://www.ipea.gov.br/ouvidoria
URL: http://www.ipea.gov.br
Fundao pbl i ca vi ncul ada Secr et ar i a de
Assuntos Estratgicos da Presidncia da Repblica,
o Ipea fornece suporte tcnico e institucional s
aes governamentais possibilitando a formulao
de inmeras polticas pblicas e programas de
desenvol vi mento brasi l ei ro e di sponi bi l i za,
para a sociedade, pesquisas e estudos realizados
por seus tcnicos.
Braslia, 2011
Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada ipea 2011
As opinies emitidas nesta publicao so de exclusiva e inteira responsabilidade dos autores, no
exprimindo, necessariamente, o ponto de vista do Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada ou da
Secretaria de Assuntos Estratgicos da Presidncia da Repblica.
permitida a reproduo deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte.
Reprodues para fins comerciais so proibidas.
A China na nova congurao global : impactos
polticos e econmicos / organizadores: Rodrigo
Pimentel Ferreira Leo, Eduardo Costa Pinto,
Luciana Acioly.- Braslia : Ipea, 2011.
352 p. : grfs., tabs.
Inclui bibliograa.
ISBN 978-85-7811-119-9
1. Crescimento Econmico. 2. Desenvolvimento
Econmico. 3. Poltica Econmica. 4. China. I. Leo,
Rodrigo Pimentel Ferreira. II. Pinto, Eduardo Costa.
III. Silva, Luciana Acioly da. IV. Instituto de
Pesquisa Econmica Aplicada.
CDD 338.951
A China na nova congurao global : impactos
polticos e econmicos / organizadores: Rodrigo
Pimentel Ferreira Leo, Eduardo Costa Pinto,
Luciana Acioly.- Braslia : Ipea, 2011.
352 p. : grfs., tabs.
Inclui bibliograa.
ISBN
1. Crescimento Econmico. 2. Desenvolvimento
Econmico. 3. Poltica Econmica. 4. China. I. Leo,
Rodrigo Pimentel Ferreira. II. Pinto, Eduardo Costa.
III. Silva, Luciana Acioly da. IV. Instituto de
Pesquisa Econmica Aplicada.
CDD 338.951
SUMRIO
APRESENTAO .................................................................................7
PREFCIO ..........................................................................................9
INTRODUO ...................................................................................13
CAPTULO 1
O EIXO SINO-AMERICANO E AS TRANSFORMAES DO SISTEMA
MUNDIAL: TENSES E COMPLEMENTARIDADES COMERCIAIS,
PRODUTIVAS E FINANCEIRAS .....................................................................19
Eduardo Costa Pinto
CAPTULO 2
A ASCENSO CHINESA: IMPLICAES PARA AS
ECONOMIAS DA EUROPA ..........................................................................79
Sandra Poncet
CAPTULO 3
A ARTICULAO PRODUTIVA ASITICA E OS EFEITOS
DA EMERGNCIA CHINESA ......................................................................115
Rodrigo Pimentel Ferreira Leo
CAPTULO 4
CHINA E NDIA NO MUNDO EM TRANSIO: O SISTEMA
SINOCNTRICO E OS DESAFIOS INDIANOS ...............................................165
Diego Pautasso
CAPTULO 5
A ASCENSO CHINESA E A NOVA GEOPOLTICA E GEOECONOMIA
DAS RELAES SINO-RUSSAS ..................................................................195
William Vella Nozaki
Rodrigo Pimentel Ferreira Leo
Aline Regina Alves Martins
CAPTULO 6
A EXPANSO DA CHINA PARA A FRICA:
INTERESSES E ESTRATGIAS ....................................................................235
Padraig Carmody
Francis Owusu
CAPTULO 7
CHINA E AMRICA LATINA NA NOVA DIVISO
INTERNACIONAL DO TRABALHO ..............................................................269
Alexandre de Freitas Barbosa
CAPTULO 8
CHINA E BRASIL: OPORTUNIDADES E DESAFIOS .......................................307
Luciana Acioly
Eduardo Costa Pinto
Marcos Antonio Macedo Cintra
NOTAS BIOGRFICAS......................................................................351
APRESENTAO
A ltima dcada do sculo XX foi marcada pelo fm da Guerra Fria (1947-1991),
que gerou modifcaes importantes no sistema internacional em decorrncia do au-
mento do poder dos Estados Unidos tanto no mbito poltico como no econmico.
O domnio destes s no foi total no plano econmico, quela poca, em virtude
da nova emergncia produtiva da sia mais especifcamente do Sudeste Asitico ,
capitaneada no primeiro momento pelo Japo e posteriormente pela China.
Na dcada de 2000, esse milagre asitico deixou de ser fenmeno regional
para se tornar realidade mundial, ultrapassando as fronteiras do espao geogrfco
asitico. A China, lder dessa dinmica, tornou-se o principal produtor e expor-
tador mundial de manufaturas e importante mercado consumidor de mquinas
e equipamentos da Europa e dos pases asiticos mais desenvolvidos, assim como
de matrias-primas de pases da Amrica Latina, da frica e da sia em desen-
volvimento. Da mesma forma que a Inglaterra fez durante a Primeira Revoluo
Industrial, a China tem alterado a diviso internacional do trabalho e tem sido
considerada a fbrica do mundo.
Ser que a ascenso chinesa est provocando mudanas estruturais no
sistema mundo? Essa questo ganhou ainda mais relevncia com a crise de 2008,
pois geralmente so nesses momentos de crise que se abrem possibilidades para
que alguns Estados consigam subir na hierarquia do sistema mundial.
Para muitos, a manifestao da grave crise global desde 2008 tornou mais
claro o conjunto de sinais da decadncia relativa dos Estados Unidos, evidenciando
um novo deslocamento do centro dinmico da Amrica (Estados Unidos) para
a sia (China) e o reaparecimento da multicentralidade geogrfca mundial.
Esse quadro permitiu aos pases de grande dimenso geogrfca e populacional
assumirem maior responsabilidade no desenvolvimento mundial, tais como o
Brasil, a ndia, a Rssia e a frica do Sul, alm, claro, da China, que tem sido a
grande propulsora dessas transformaes.
Para outros, ainda muito cedo para afrmar a decadncia dos Estados Unidos
e incorrer no mesmo erro dos analistas dos anos 1970 que decretaram o fm
da hegemonia norte-americana , dadas as fontes de poder da ordem capitalista
que este pas ainda detm: a moeda e as armas. Isso no signifca afrmar que os
Estados Unidos perderam poder relativo, sobretudo em decorrncia da ascenso
da China, mas sim que os Estados Unidos ainda possuem grande estoque de
poder, apesar de sua reduo no perodo recente.
8 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
Independentemente de uma ou outra trajetria, existem evidncias claras
de que a ascenso da China no sistema mundial tem provocado modifcaes
profundas na ordem poltica e econmica nesse incio de sculo XXI.
A compreenso do papel da China nessa dinmica complexa requer cada vez
mais estudos e pesquisas. Neste sentido, o livro A China na nova confgurao
global: impactos polticos e econmicos busca identifcar e analisar o papel
destacado que esse pas exerce na nova ordem internacional nesse sculo XXI,
bem como os possveis impactos dessa nova dinmica para diversos pases e
regies, especialmente para o Brasil.
Marcio Pochmann
Presidente do Ipea
PREFCIO
Foi com grande satisfao que recebi o convite para escrever um prefcio ao
novo livro do Ipea sobre a China. O livro contm uma srie de monografas que
tratam de vrios aspectos da China, de sua poltica externa e de suas relaes
com o Brasil. A realizao desse conjunto de pesquisas refete a crescente impor-
tncia das relaes sino-brasileiras e uma nova vocao do Ipea para o estudo de
temas internacionais com impacto na realidade brasileira. O livro constitui uma
contribuio relevante para melhor compreender o desenvolvimento chins, a
crescente projeo internacional da China e o novo signifcado da parceria estra-
tgica entre o Brasil e a China.
No plano interno, a China, aps 30 anos de rpida expanso de seu produto
interno bruto (PIB), procura agora acelerar a transformao de seu modelo de
crescimento em direo a um modelo assentado no consumo e na qualidade mais
que no investimento e no crescimento do PIB. Essa transformao, se conduzida
com xito, dar um passo importante para consolidar a situao da China como
uma potncia econmica global e como um pas desenvolvido. Essa modifcao
tambm far da China um parceiro cada vez mais importante ao transform-la
no maior importador mundial e em um investidor externo cada vez mais signif-
cativo. Acompanhar os rumos dessa transio e procurar entender seus avanos e
obstculos importante para defnir a nova fase das relaes sino-brasileiras e para
identifcar sinergias entre os planos de desenvolvimento do Brasil e da China.
O crescimento chins, que em trs dcadas transformou a China na segunda
potncia econmica mundial, fez que o pas tambm se projetasse em nvel global
e se tornasse um ator relevante em todas as grandes questes internacionais. Tal
ascenso est associada dos demais pases emergentes e dos pases em desenvol-
vimento em geral e traz consigo a perspectiva de uma transformao sem prece-
dentes na ordem internacional, com uma grande reduo do fosso que separa os
pases em desenvolvimento dos pases desenvolvidos. O Brasil, como integrante
do BRICS (Brasil, Rssia, ndia, China e frica do Sul) e de outros grupos dos
quais a China faz parte, tambm um importante ator nesse processo e nele v
o embrio do que o ministro das Relaes Exteriores, Antonio Patriota, tem cha-
mado de uma multipolaridade benigna.
Brasil e China tm como um dos princpios de sua poltica exterior a solida-
riedade com os demais pases em desenvolvimento. A crescente demanda chinesa
por matrias-primas e a internacionalizao das empresas chinesas tm levado a
China a aumentar seu comrcio com a frica e a Amrica Latina e a realizar im-
portantes investimentos nessas duas regies.
10 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
O Brasil tem a Amrica do Sul e a Amrica Latina e Caribe (ALC) como
prioridades de sua poltica exterior e mantm com a regio vnculos polticos,
econmico-comercias e culturais privilegiados. A presena chinesa na ALC
deve assim ser acompanhada com ateno, com vista inclusive a identifcar
oportunidades de promoo do desenvolvimento regional, por exemplo, na
integrao da infraestrutura.
No caso da frica, a partir do governo do presidente Lula, a poltica ex-
terna brasileira passou a atuar decididamente na intensifcao dos laos com
o continente africano, em particular com os pases lusfonos, e a buscar coad-
juvar nos esforos de desenvolvimento dos pases africanos. A China vem tam-
bm expandindo suas relaes polticas, econmicas e comerciais com a frica.
De novo, essa atuao chinesa nesse continente deve ser entendida e nela pode-
mos identifcar, alm dos naturais elementos de competio na rea comercial e
de investimentos, oportunidades de cooperao trilateral.
A relao da China com a ndia e sua evoluo nos prximos anos consti-
tui captulo importante da ascenso asitica, tanto do ponto de vista geopoltico
quanto do da integrao econmica e expanso das cadeias produtivas do conti-
nente. A dinmica das relaes entre a China e a Rssia, especialmente luz das
mudanas ocorridas nas ltimas dcadas do sculo XX e no incio do sculo XXI,
em que o cenrio internacional passou por profundas transformaes, assume
carter crescentemente estratgico. A evoluo das cadeias produtivas asiticas
assume papel crescente nos fuxos de comrcio mundial e poder ter papel deter-
minante tambm na inovao tecnolgica nas prximas dcadas. Em todas essas
reas, os autores trazem contribuies relevantes e estimulantes para a compreen-
so da poltica externa chinesa.
A relao da China com os Estados Unidos hoje talvez a mais importante
relao bilateral para os dois parceiros, em particular no atual cenrio de crise
nas economias desenvolvidas e de continuao do ciclo de rpido crescimento da
China. O rebalanceamento econmico mundial depende de ajustes nas econo-
mias americana e chinesa, que devem ser seguidos para entender a nova confgu-
rao da geografa econmica do sculo XXI.
A relao da China com a Europa, embora no se revista do mesmo signi-
fcado simblico, ainda a relao dominante em termos econmicos, por ser a
Unio Europeia o maior parceiro comercial chins e grande investidor na China.
A crise fnanceira tem dado novos contornos a essa relao, tendo a China se
transformado em importante credor de alguns pases europeus.
Todos esses estudos criam o pano de fundo para a anlise da relao sino-
-brasileira, que cresceu a um ritmo acelerado nos ltimos dez anos, tendo-se di-
versifcado e ganhado complexidade. O dilogo poltico se intensifcou no plano
11 Prefcio
bilateral com frequentes visitas de chefes de Estado, encontros de alto nvel e
criao da Comisso Sino-Brasileira de Alto Nvel de Concertao e Cooperao
(Cosban), que hoje conta com 11 subcomisses e vrios grupos de trabalho.
O dilogo ganhou tambm uma crescente dimenso multilateral com a criao
dos BRICS e do G-20, refetindo mudanas na ordem internacional. A fm de dar
uma viso estratgica e de longo prazo a essas relaes e defnir objetivos de mdio
e longo prazo e aes concretas em cada rea, os dois pases adotaram em 2010 o
Plano de Ao Conjunta 2010-2014.
A China tornou-se o principal parceiro comercial do Brasil em 2009 e o
maior investidor em 2010, o que refete a complementaridade das duas econo-
mias. O crescimento muito rpido do comrcio, com a concentrao da pauta de
exportaes do Brasil em poucas matrias-primas e o rpido crescimento das im-
portaes totais brasileiras da China, aliado elevao das importaes de produ-
tos de baixo custo, deram a essa relao uma imagem de desafos e oportunidades.
Tal imagem se tornou mais preocupante com a crise.
Quando de sua recente visita China, a presidente Dilma Roussef indi-
cou a seus interlocutores a necessidade de dar um salto qualitativo na relao.
Construindo a relao sobre a base do crescimento recente, os dois lados devem
trabalhar conjuntamente para corrigir desajustes e assim garantir um cresci-
mento acelerado da relao no futuro em bases mais equilibradas e em direo
a outras reas. Em todos os campos se deve buscar explorar as sinergias entre os
planos de desenvolvimento do Brasil e da China, focalizando a cooperao em
reas de interesse comum.
Com o presente volume, o Ipea presta contribuio relevante para a anlise
das relaes com a China, tema cada vez mais importante para a poltica externa
brasileira. Iniciativas como essa so particularmente importantes para reduzir a
brecha de conhecimento em relao China, contribuindo para a construo de
uma relao sino-brasileira realmente estratgica, que combine objetivos de longo
prazo e aes concretas para equacionar problemas e promover um salto qualitati-
vo nessa relao a partir de uma clara viso dos interesses brasileiros.
China, setembro de 2011.
Clodoaldo Hugueney
Embaixador do Brasil na China
INTRODUO
Nada seria mais equivocado do que julgar
a China segundo nossos critrios europeus.
Lorde Macartney, 1794
Quando a China despertar, o mundo tremer.
Napoleo Bonaparte, 1816
S se pode falar alto [no sistema mundial]
quando se tem muito dinheiro.
Deng Xiaoping, 1992
Em 1793, o lorde Macartney e sua comitiva desembarcaram em terras chinesas,
mais especifcamente no porto de Canto nico autorizado a receber estran-
geiros ocidentais , com a misso de criar um canal comercial entre Inglaterra
e China, que at aquela altura nunca tinha aberto suas portas a outra nao.
O imperador Qianlong refutou duramente a proposta
1
e a reao inglesa foi
arrombar as portas. A derrota chinesa garantiu o domnio ingls no Sudeste
Asitico ao longo do sculo XIX, bem como auxiliou na formao de um rancor
histrico entre a China e o Ocidente durante o sculo XX. Alain Peyreftte, ao
refazer o caminho de Macartney em 1960, constatou que muito do que houvera
sido descrito pela comitiva inglesa, h quase dois sculos, se mantivera quase
intacto, afrmando, assim, que o imobilismo relativo fora a marca da China
naquele longo perodo (PEYREFITTE, 1997).
Essa foi uma das razes que motivou, no fm dos anos 1940, o surgimento
da Revoluo Comunista. Segundo o lder revolucionrio, Mao Tse-Tung, a mo-
dernizao e a eliminao da pobreza na China somente aconteceriam mediante
a ruptura do regime imperialista, responsvel pelo atraso do pas em relao s
principais potncias capitalistas e pela cristalizao das relaes sociais. Desde
ento, a China iniciou um processo de transio de sua condio de imprio im-
vel para se tornar o pas mais dinmico no incio do sculo XXI. Como relatou o
prprio Peyreftte, em meados da dcada de 1990, esse processo ganhou grande
1. Para Peyrette (1997, p. 11), um incidente aparentemente sem importncia selou o fracasso de Macartney: ele
se negou a executar o kotow isto , a se prosternar, em conformidade com o protocolo da corte, encostando nove
vezes a cabea no cho, diante do imperador. [...] No h maior ofensa aos homens do que chocar seus rituais e seus
costumes, o que sempre um sinal de desprezo. A corte Celeste escandalizou-se. O imperador abreviou a misso.
14 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
dinamismo em virtude da confgurao da era Deng Xiaoping. Em outras pala-
vras, o drago estava despertando de sua longa hibernao e, consequentemente,
provocando profundas transformaes econmicas e polticas no sistema interna-
cional, como previra Napoleo Bonaparte h quase 200 anos.
A ascenso chinesa tem sido impressionante! A economia cresce 10% ao ano
(a.a) h mais de 30 anos, sendo hoje considerada a fbrica do mundo, mesmo
ttulo j dado outrora a seu algoz do sculo XIX. No plano da poltica interna-
cional, o Estado chins tem obtido mais poder tanto no mbito das instituies
multilaterais Organizao das Naes Unidas (ONU), Organizao Mundial
do Comrcio (OMC), Fundo Monetrio Internacional (FMI), Banco Mundial,
G-20 fnanceiro etc. como nas negociaes bilaterais com outros pases. Fica
cada vez mais evidente que boa parte das transformaes ocorridas no sistema
econmico e poltico internacional neste incio do sculo XXI nova diviso
internacional do trabalho e mudanas nas posies relativas de determinados Es-
tados nacionais na hierarquia do sistema mundial foi fruto da ascenso econ-
mica e poltica da China e de seus desdobramentos para o resto do mundo.
No plano internacional, a China de Deng Xiaoping saiu de sua condio de
grande isolamento caracterstico do perodo maosta (1949-1976) para resta-
belecer suas alianas com vrias naes capitalistas, a fm de apoiar suas polticas
de modernizao econmica sem afetar sua estabilidade poltica. A progressiva
retomada das relaes exteriores, em um cenrio de expanso de sua economia,
permitiu China adquirir relevncia cada vez maior nas mudanas do comrcio
internacional, nas estratgias das empresas transnacionais, entre outros aspectos.
Foi nesse cenrio que a China conseguiu subir vrios degraus na hierarquia
do sistema mundial, sendo atualmente um dos pases indispensveis na mesa de
negociao dos principais confitos econmicos e polticos do sistema internacio-
nal. Apesar disso, os Estados Unidos permaneceram com elevada concentrao de
poder econmico, poltico e militar moeda de curso internacional (dlar), t-
tulos do Tesouro como ativos lquidos de ltima instncia da economia mundial,
quase metade dos gastos militares do mundo, forte capacidade de infuenciar as
negociaes dos organismos multilaterais , embora tivesse reduzido o seu poder
relativo em decorrncia dos efeitos da crise internacional de 2008 e do prprio
aumento de poder chins. Recentemente, Henry Kissinger chegou a afrmar que
os lderes da China e dos Estados Unidos no tm tarefa mais importante do
que implementar a verdade: que nenhum dos dois pases ser capaz de algum dia
dominar o outro (apud DIEGUEZ, 2011, p. 38).
Essa nova relao entre China e Estados Unidos, consolidada na dcada de
2000, provocou signifcativas modifcaes na dinmica econmica mundial at a
crise internacional de 2008. Neste sentido, os Estados Unidos exerceram o papel
de consumidor de ltima instncia do mundo, ao passo que a China afrmou-se
15 Introduo
como principal produtor mundial de manufaturas intensivas em tecnologia e em
mo de obra, assim como importante supridor da demanda americana, ao mesmo
tempo em que se transformou em um grande mercado consumidor de mquinas e
equipamentos europeus, japoneses e coreanos e de matrias-primas petrleo, mine-
rais, produtos agrcolas etc. asiticas, africanas, latino-americanas e do Leste Euro-
peu. Os mecanismos de transmisso da dinmica chinesa possibilitaram crescimento
quase sincronizado em diversos pases das vrias regies do mundo sia, frica,
Amrica Latina e Europa. Vale ressaltar que a ampliao das relaes econmicas e
polticas entre a China e diversos pases/regies vem se confgurando a partir de uma
totalidade do sistema internacional fortemente complexa, pois essa ampliao ori-
gina, ao mesmo tempo, oportunidades e ameaas para esses pases que precisam ser
mais bem compreendidas, sobretudo no que diz respeito aos efeitos sobre o Brasil.
Por esses e outros motivos, no menos importantes, extremamente opor-
tuno ampliar a compreenso do papel da China na nova confgurao da ordem
mundial no sculo XXI, buscando analisar os impactos econmicos e polticos de
sua ascenso para determinados pases (Estados Unidos, Brasil, Rssia e ndia) e
regies (Europa, Sudeste Asitico e Amrica Latina).
Para tanto, este livro composto de oito captulos. O primeiro deles, O eixo
sino-americano e as transformaes do sistema mundial: tenses e complementaridades
comerciais, produtivas e fnanceiras, escrito por Eduardo Costa Pinto, mostra os
efeitos da relao entre a China e os Estados Unidos, denominada de siamesa,
para a dinmica e para as transformaes do sistema mundial no incio do sculo
XXI. Aps analisar os dados comerciais, industriais e fnanceiros bilaterais entre
estes dois pases, o autor argumenta que a dinmica da economia mundial criou
uma teia, no necessariamente planejada, de interesses norte-americanos e chi-
neses muito difcil de ser desfeita e, em boa medida, responsvel pelas mudanas
do sistema econmico e poltico mundial novos fuxos comerciais, produtivos e
fnanceiros que tm se acelerado aps a crise internacional de 2008. Por fm, afr-
ma que a conjuntura econmica e poltica internacional posterior crise de 2008
confgurou-se como ponto de bifurcao histrica em que esto abertas as possibi-
lidades para que alguns Estados consigam subir na hierarquia do sistema mundial.
No segundo captulo, A ascenso chinesa: implicaes para as economias da
Europa, Sandra Poncet analisa a relao estabelecida entre a China e a Europa,
destacando os diversos canais dos impactos positivos e negativos comerciais,
econmicos e sociais dessa maior aproximao. Em primeiro lugar, avaliam-se os
efeitos da concorrncia nos mercados de exportao entre China e Unio Europeia
para o desempenho comercial dos pases europeus, estabelecendo comparaes
entre a Alemanha e a Frana. Os dados primrios sugerem que os pases euro-
peus resistiram bem concorrncia da China, j que as indstrias manufatureiras
da Europa deixaram de produzir bens menos sofsticados, passando a engendrar
16 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
produtos de mais alta qualidade. Em segundo lugar, discutem-se os impactos eco-
nmico e social da internacionalizao das empresas europeias na China, obser-
vando como os canais comerciais afetam o mercado de trabalho europeu e quais
os principais fatores explicativos do declnio de produo na Europa.
No terceiro captulo, A articulao produtiva asitica e os efeitos da emergncia
chinesa, Rodrigo Pimentel Ferreira Leo apresenta as caractersticas da articulao
produtiva na sia que foi e vem sendo responsvel pelo acelerado desenvolvimento
econmico da regio, desde os anos 1950 at o momento presente. Desenvolvi-
mento este que pode ser dividido em duas etapas diferenciadas: a capitaneada pelo
Japo entre 1950 e meados dos anos 1990 e a liderada pela China ps-crise
asitica de 1997 at dos dias atuais. O autor explora a diferenciao entre essas duas
etapas. Primeiramente, o foco compreender o caminho percorrido pela China
para deixar de ser mais uma nao que se benefciou da articulao produtiva asiti-
ca, tornando-se um ator protagonista dessa articulao. Posteriormente, enfatiza as
modifcaes no comrcio e no investimento direto estrangeiro (IDE) na dcada de
2000, perodo em que a China se tornou o centro dinmico regional.
No quarto captulo, China e ndia no mundo em transio: o sistema sinocntri-
co e os desafos indianos, Diego Pautasso analisa a evoluo e as mudanas polticas e
econmicas nas relaes sino-indianas (China e ndia) entre 1991 e 2011. O pano
de fundo utilizado para explicar essas mudanas a ideia de que se enfrenta, desde
a dcada de 1970, uma transio de longa durao do sistema mundial, ao estilo
Wallerstein/Arrighi, da hegemonia americana para a chinesa, isto , estar-se-ia a ca-
minho de um sistema sinocntrico. A partir dessa premissa, o captulo realiza breve
histrico das relaes sino-indianas para, em seguida, analisar a ascenso da China e
sua aproximao com a ndia, sobretudo no plano econmico, a partir da mudana
operada pelo fm da bipolaridade e da rivalidade sino-sovitica.
No quinto captulo, A ascenso chinesa e a nova geopoltica e geoeconomia das
relaes sino-russas, William Vella Nozaki, Rodrigo Pimentel Ferreira Leo e Aline
Regina Alves Martins investigam as contradies e as complementaridades sub-
jacentes aproximao recente entre China e Rssia, levando em conta tanto as
desconfanas histricas entre esses pases como a reaproximao em um contexto
de ascenso chinesa e de reestruturao do Estado russo. Os autores ressaltam
ainda que a anlise da relao sino-russa s pode ser feita luz de suas decises
estratgicas associadas a: i) busca pela afrmao nacional na regio eurasitica; ii)
movimentaes de aproximao e de distanciamento com os Estados Unidos; e
iii) questes militares e energticas.
No sexto captulo, A expanso da China para a frica: interesses e
estratgias, Padraig Carmody e Francis Owusu investigam as estratgias
geoeconmicas de comrcio e de investimento chinesas para a frica,
17 Introduo
buscando mostrar que essa regio passou a ter importncia central para as
polticas globais de segurana energtica particularmente os combustveis
fsseis dos Estados Unidos e, sobretudo, da China. A princpio, discute-
se a aproximao e a estratgia chinesa para o continente africano realizada
partir de 2000 para, em seguida, analisar os impactos econmicos dessa
expanso, ressaltando os efeitos desse processo para o sistema poltico e
para a reestruturao dos Estados africanos.
No stimo captulo, China e Amrica Latina na nova diviso internacional
do trabalho, Alexandre de Freitas Barbosa realiza um panorama das relaes
econmicas entre a China e os pases da Amrica Latina na dcada de 2000,
ensejando mostrar que a ascenso chinesa ao criar nova diviso internacional
do trabalho confgurou novos dilemas estruturais para os pases da regio
que, necessariamente, so refetidos na agenda do desenvolvimento de cada
pas. Neste sentido, descrevem-se as diferentes estratgias de insero exter-
na da China e da Amrica Latina nos anos 1990, bem como a evoluo das
relaes econmicas fuxo de comrcio e de capitais entre 1998 a 2008.
A aps realizar uma tipologia, ao estilo histrico-estrutural, para identifcar as
diferentes formas de relao entre a China e os pases da regio, o captulo dis-
cute os vrios desafos estruturais que esto postos e que recolocam a questo
do desenvolvimento nacional a partir da tica cepalina.
Por fm, no oitavo captulo, China e Brasil: oportunidades e desafos, Luciana Acioly,
Eduardo Costa Pinto e Marcos Antonio Macedo Cintra apresentam os desafos que
o Brasil ter de enfrentar com a ampliao de suas relaes comerciais, produtivas e
fnanceiras com a potncia em ascenso chinesa. Relaes estas que evoluram acelera-
damente ao longo da dcada de 2000 e que tendem a se aprofundar ainda mais aps
a crise internacional de 2008, em virtude da tentativa do governo chins de mudar
seu padro de crescimento conforme exposto no XII Plano Quinquenal (2011-2015).
O captulo afrma que a aproximao com a China cria oportunidades de curto e de
mdio prazo melhora dos termos de troca, utilizao do funding chins, possveis
acordos de cooperao tecnolgica etc. para o Brasil que, se no forem bem aprovei-
tadas, podero representar ameaas no longo prazo, em virtude: i) da perda de partici-
pao das exportaes brasileiras em terceiros mercados para a China; ii) dos efeitos da
concorrncia chinesa para a estrutura produtiva nacional; e iii) da perda do controle
estratgico sobre fontes de energia (petrleo) e de recursos naturais (terras e minas).
Boa leitura!
Rodrigo Pimentel Ferreira Leo
Eduardo Costa Pinto
Luciana Acioly
Organizadores
18 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
REFERNCIAS
DIEGUEZ, F. Subelevao na sia. Retrato do Brasil, n. 42, p. 34-38,
jan. 2011.
PEYREFITTE, A. O imprio imvel ou o choque dos mundos. Rio de Janeiro:
Casa Jorge Editorial, 1997.
CAPTULO 1
O EIXO SINO-AMERICANO E AS TRANSFORMAES DO
SISTEMA MUNDIAL: TENSES E COMPLEMENTARIDADES
COMERCIAIS, PRODUTIVAS E FINANCEIRAS
Eduardo Costa Pinto
*
1 INTRODUO
A primeira dcada do sculo XXI foi marcada por importantes transformaes
no sistema econmico e poltico internacional. Os atentados de 11 de Setembro
de 2001 foram o marco para a mudana na conjuntura internacional da dcada
de 2000 em relao aos anos 1990, uma vez que no plano geopoltico o governo
George W. Bush ampliou o unilateralismo dos Estados Unidos, trazendo a guerra
para o centro da discusso internacional guerra no Afeganisto e no Iraque e
a luta contra o terrorismo internacional , ao mesmo tempo que adotou uma
poltica monetria e fscal expansionista que foi um dos elementos responsveis
pelo forte ciclo de crescimento da economia mundial entre 2003 e 2007 (taxa de
4,7% na mdia anual).
A nova conjuntura do sistema poltico e econmico global, em curso desde
o incio do sculo, no foi apenas uma decorrncia da ao unilateral do Estado
americano; pelo contrrio, o que se verifcou, ao longo da dcada de 2000, foi o
retorno e a emergncia de atores representativos nos espaos de disputa global,
tais como a Rssia, a ndia e a China. O aumento recente de poder deste ltimo
pas est vinculado ao seu forte dinamismo econmico que se articulou com o
crescimento recente da sia, da frica, da Amrica Latina e da Europa. A despeito
do aumento do poder relativo de alguns Estados, os Estados Unidos mantm uma
elevada concentrao do poder econmico e poltico , pois possui a moeda de
curso internacional dlar , a maior economia mundial (24,4% do produto
interno bruto PIB global em dlares correntes em 2009) e uma fora militar
sem precedentes histricos (42% das despesas militares do mundo so realizadas
pelos americanos).
*
Tcnico de Planejamento e Pesquisa da Diretoria de Estudos e Relaes Econmicas e Polticas Internacionais (Dinte)
do Ipea.
20 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
Nesse sentido, o sistema internacional permanece unipolar; porm essa unipola-
ridade parece estar caminhando para uma reduo do poder relativo dos Estados
Unidos frente ao aumento de poder de outros Estados, em especial a China, que
tem tido crescimento acelerado do seu poder poltico e econmico. Nesse cam-
po, inclusive a China passou o Japo tornando-se a segunda maior economia do
mundo. A visita de Hu Jintao, presidente chins, aos Estados Unidos, em janeiro
de 2011, consolida a importncia da China e dos Estados Unidos que juntos
detiveram 33% do PIB mundial, em 2009 e evidencia que estes so dois pases
indispensveis para a resoluo dos principais problemas enfrentados atualmente
pela economia mundial.
A ascenso em curso da China, associada ao elevado poder dos Estados Uni-
dos, difere da organizao do sistema bipolar do perodo da Guerra Fria (Estados
Unidos e Unio das Repblicas Socialistas Soviticas URSS),
1
pois a competi-
o pela acumulao de poder mundial entre Estados Unidos e China vem acom-
panhada de tenses geopolticas, sobretudo aps a crise internacional de 2008,
2
e de complementaridades econmicas profundas no plano comercial, produtivo
e fnanceiro, confgurando uma relao siamesa entre estes dois pases no
para menos que o presidente Barack Obama batizou o relacionamento China/
EUA como concorrncia amistosa (ROSSI, 2011, p. A10, grifo nosso) , tendo
os Estados Unidos claramente maior poder nesse processo, ainda que em termos
relativos, menor do que o que tinha antes da crise.
Essa relao sino-americana recente teve origem, em 1972, com a aproxima-
o dos Estados Unidos, sob o governo Richard Nixon, com a China comunista,
e foi uma decorrncia da estratgia americana de isolamento da URSS. O status
chins de aliado americano no sistema mundial perdurou at o fm do bloco co-
munista; a partir de ento a China passou rapidamente condio de concorrente.
Alm do fm da URSS, o episdio da Tiananmen, em junho de 1989 forte
represso do governo chins s manifestaes contra o regime comunista e as ten-
ses no estreito de Taiwan acirraram as relaes entre a China e os Estados Unidos.
Este ltimo inclusive adotou fortes sanes econmicas contra a China em 1989
que perduraram por toda a dcada de 1990. Aps o apoio chins na empreitada
americana de combate ao terrorismo internacional, sobretudo no Afeganisto e
1. No sistema bipolar, os Estados Unidos e a URSS os dois principais atores travavam uma forte competio pela
acumulao de poder poltico mundial, que no necessariamente se congurava no plano econmico devido
pouca ou quase nenhuma integrao entre os dois blocos capitalista e comunista. No bloco capitalista,
congurou-se uma cooperao antagnica entre Estados Unidos, Japo e Alemanha que representou uma articulao
entre Estados capitalistas concorrentes no plano econmico, alando o crescimento a uma questo de manuteno
da ordem capitalista. A crise dos anos 1970 desestruturou aquele arranjo cooperativo, pois a elevao dos custos
produtivos salariais, de matrias-primas e os choques do petrleo provocou o acirramento da concorrncia entre
as empresas americanas, alems e japonesas.
2. Na primeira semana de dezembro de 2010, a China estava simbolicamente cercada por tropas americanas, sul-
-coreanas e japonesas devido ao exerccio militar conjunto no mar do Japo (DIEGUEZ, 2011).
21 O Eixo Sino-Americano e as Transformaes do Sistema Mundial
Iraque, as relaes entre estes dois pases melhoraram de forma gradual entre 2001
e 2008. Mais recentemente, ps-crise de 2008, as tenses comerciais entre estes
dois pases elevaram-se em virtude dos dfcits americanos com a China, em um
contexto de baixo crescimento da economia americana. Para os americanos, a ma-
nuteno da desvalorizao artifcial da moeda chinesa tem gerado perda signifca-
tiva de postos de trabalho no pas.
Mesmo nesse novo contexto geopoltico de ampliao do poder americano
durante os anos 1990, a China j havia alcanado condies econmicas estrutu-
rais para manter o seu crescimento econmico extraordinrio. Crescimento este
que criou uma complementaridade econmica comercial, produtiva e fnan-
ceira cada vez maior com os Estados Unidos. Na verdade, o ciclo de expanso
mundial do incio do sculo XXI foi uma decorrncia de novos fuxos comerciais,
produtivos e fnanceiros que conectaram, por um lado, os Estados Unidos e, por
outro, as economias do Sudoeste Asitico, especialmente a China.
Nem mesmo a crise internacional de 2008 interrompeu esse processo, que
parece inclusive ter reforado a importncia do eixo sino-americano. A confgura-
o desse novo eixo que articula a globalizao fnanceira americana, por um lado,
e o milagre econmico chins, por outro, tem provocado mudanas signifcativas
na diviso internacional do trabalho e, consequentemente, gerado alteraes nas
posies relativas de determinados Estados na hierarquia do sistema mundial.
Sistema este que caracterizado por pases que buscam acumular poder poltico e
riqueza na arena global, bem como pela elevada concentrao do poder econ-
mico e poltico em poucos Estados, pois, nas palavras de Nobert Elias, quem
no sobe cai.
Diante disso, este artigo busca mostrar as relaes de competitividade e com-
plementaridade econmica comercial, produtiva e fnanceira entre a China e os
Estados Unidos, bem como os impactos da confgurao do eixo sino-americano
para a dinmica macroeconmica mundial, tentando apontar que as mudanas do
sistema econmico e poltico mundial observadas na dcada de 2000 so uma de-
corrncia, em boa medida, da confgurao desse novo eixo geoeconmico.
Alm desta introduo, descreve-se, na seo 2 deste captulo, de forma
sinttica, o nascimento da relao siamesa entre os Estados Unidos e a China.
Na seo 3, busca-se apresentar e analisar as relaes comerciais, produtivas e f-
nanceiras entre China e Estados Unidos na dcada de 2000, ensejando mostrar a
confgurao da relao siamesa entre esses pases, tendo os Estados Unidos maior
poder nessa relao. Na seo 4, busca-se analisar o papel desempenhado pelo eixo
geoeconmico sino-americano no processo de expanso, de crise e da dinmica
ps-crise da economia mundial na primeira dcada do sculo XXI. Por fm, na
seo 5, procura-se alinhavar algumas ideias a ttulo de concluso.
22 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
2 O NASCIMENTO DA RELAO SIAMESA ENTRE ESTADOS UNIDOS E CHINA:
GLOBALIZAO FINANCEIRA AMERICANA E MILAGRE ECONMICO CHINS
Um olhar retrospectivo revela que a genealogia do nascimento da relao sia-
mesa entre os Estados Unidos e a China remonta dcada de 1970 e foi fruto
da estratgia americana de retomar o poder no mbito do sistema mundial.
Na segunda metade dos anos 1960, intensifcou-se o confito poltico entre os
blocos capitalista e socialista, ampliando ainda mais a contestao da suprema-
cia americana no polo capitalista em virtude das reaes europeias questio-
namento da Aliana do Atlntico, especialmente, pela Frana de De Gaulle ,
da questo da indo-chinesa derrota dos Estados Unidos na guerra do Vietn,
sua primeira grande derrota militar e do fortalecimento do bloco dos pases
no alinhados a partir da conferncia de 1961
3
(FIORI, 1997). Contudo, os
Estados Unidos no fcaram indiferentes a isso; a dupla Richard Nixon e Henry
Kissinger, no incio da dcada de 1970, buscou recompor o poder americano
por meio de uma nova estratgia, a Realpolitik orientada pelos interesses ame-
ricanos no contexto de um novo equilbrio de poder mundial (FIORI, 1997,
p. 112). Entre as medidas dessa nova estratgia pode-se destacar: i) o fm da
conversibilidade do ouro dlar (desmoronamento do sistema monetrio de
Bretton Woods), articulada desvalorizao da moeda americana; ii) o fm da
guerra do Vietn; e iii) o incio do processo de aproximao americana com a
China comunista, visando reduzir o avano da URSS.
4
Esse projeto foi abortado devido diviso interna do establishment americano e
do escndalo de Watergate, que resultou na renncia de Nixon em 1974. Os presidentes
posteriores, durante os anos 1970 Gerald Ford e Jimmy Carter , retomaram a viso
wilsoniana, no plano internacional, e mantiveram a poltica keynesiana expansionista
internamente. No entanto, a estratgia de Realpolitik do governo americano
retornou com fora no fm de 1970, quando fcou evidente para o establishment
que era necessrio adotar estratgias para recuperar a competitividade de suas
3. O bloco dos pases no alinhados existe desde 1949; no entanto, a partir da conferncia de 1961 que ele ganha
fora. Esse bloco possua entre seus membros vrios pases em desenvolvimento, como China, ndia, Iugoslvia, Israel,
Cuba etc. O Brasil foi observador durante toda sua existncia. Embora esse bloco fosse destinado a criar uma terceira
via polarizao Estados Unidos URSS, ele representou uma contestao importante aos Estados Unidos em razo
de vrios de seus membros serem pases capitalistas e histricos aliados dos norte-americanos, mas que, poca,
passaram a atuar com mais independncia.
4. Um marco desse processo foi a visita do presidente americano Richard Nixon China, em fevereiro de 1972, e a
declarao de intenes ao nal da visita. O Comunicado de Xangai exps as vises de poltica externa dos dois
pases e suas intenes de restabelecimento diplomtico conforme item 15 do comunicado: Os dois lados expressa-
ram a esperana de que os ganhos obtidos durante esta visita podero abrir novas perspectivas para as relaes entre
estes dois pases. Acredita-se que a normalizao das relaes entre estas duas naes no apenas do interesse
do povo chins e do povo americano, mas tambm contribui para a reduo da tenso na sia e no mundo The
two sides expressed the hope that the gains achieved during this visit would open up new prospects for the relations
between the two countries. They believe that the normalization of relations between the two countries is not only in the
interest of the Chinese and American peoples but also contributes to the relaxation of tension in Asia and the world
(SHANGHAI COMMUNIQU, 1972, p. 4).
23 O Eixo Sino-Americano e as Transformaes do Sistema Mundial
empresas, para recompor a supremacia da posio do dlar como reserva de valor
5
e
para reforar a sua posio no topo hierrquico da geopoltica mundial capitalista.
As medidas americanas adotadas para restaurar o seu poder na ordem econmica e
poltica centraram-se, segundo Tavares (1997), Fiori (1997, 2008), Balanco e Pinto
(2005, 2007) e Pinto (2010a, 2010b), em cinco eixos que se articulam, a saber:
1. Restaurao liberal conservadora apoiada no monetarismo friedmania-
no, na gesto da poltica macroeconmica e na viso de mundo hayekia-
na da competitividade individual.
2. Redisciplinamento do mundo do trabalho, realizado mediante ataques
aos sindicatos.
3. Controle americano do sistema monetrio-fnanceiro internacional por
meio da estabilizao do padro dlar fexvel.
6
4. Reenquadramento americano dos seus aliados e concorrentes por meio
da diplomacia do dlar forte poltica Volcker , das armas projeto
guerra nas estrelas, intervenes armadas na Amrica Latina e no Oriente
Mdio, alm do apoio ao Afeganisto e do Acordo de Plaza (1985),
sendo este ltimo uma ofensiva comercial deliberada dos Estados Uni-
dos aos produtos japoneses.
5. Aproximao dos Estados Unidos com a China comunista como um
dos elementos da estratgia americana para contrapor o avano da
URSS. As relaes diplomticas foram restabelecidas em janeiro de
1979, na visita do vice-presidente chins Deng Xiaoping aos Estados
Unidos. Esse processo gerou uma srie de acordos bilaterais no campo
cientfco, econmico e cultural.
Para Fiori (2008) hoje fca cada vez mais evidente que este ltimo eixo da
estratgia americana, a parceria estratgica com a China, construda sob a gide
da derrota dos Estados Unidos no Vietn, foi um importante elemento que con-
tribuiu para o fm da URSS. Com aquela derrota
5. No m da dcada de 1970, mais especicamente entre 1977 e 1978, o dlar apresentava sinais evidentes de sua
fragilidade como unidade de reserva de valor em escala mundial em virtude da ameaa do marco e do iene. As estra-
tgias americanas, ao longo dos anos 1970, de dcits oramentrios mais elevados e de expanso da base monetria
para garantir a expanso e a elevao da competitividade do setor manufatureiro em associao com a expanso
dos euromercados geraram forte desvalorizao do dlar e o concomitante aoramento da situao nevrlgica de
questionamento da prpria posio do dlar como moeda-chave internacional (OLIVEIRA, 2004; BRENNER, 2003;
PINTO, 2005).
6. O sistema monetrio internacional, sob o padro dlar exvel, possibilita ao pas que emite a moeda-chave os
Estados Unidos uma autonomia completa na execuo de sua poltica, uma vez que para ele no existe nenhum
tipo de restrio externa. Neste sentido, o pas emissor pode incorrer em dcits de conta-corrente de forma contnua,
j que no existe a necessidade de manter sua moeda local xa em termos nominais em relao ao preo ocial do
ouro, em virtude da inteira inconversibilidade do padro dlar. Em outras palavras, os Estados Unidos no precisam
se preocupar com os dcits em conta-corrente que geram o aumento do seu passivo externo lquido, pois este
composto por obrigaes denominadas na prpria moeda americana e no conversveis em mais nada (SERRANO,
2002; MEDEIROS; SERRANO, 2001).
24 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
(...) os americanos responderam, de imediato e de forma contundente, sua perda
de posio na pennsula da Conchinchina, bloqueando a possibilidade de uma he-
gemonia russa no Sudeste Asitico e, ao mesmo tempo, propondo aos chineses um
retorno velha parceria que havia comeado com o tratado de 1844, em torno
defesa da poltica de portas abertas, e que havia se revigorado com a aproximao
sino-americana de 1943. (FIORI, 2004, p. 91).
Alm do bloqueio sovitico, essa parceria estratgica, por um lado, criou
uma das condies
7
para o incio do milagre econmico chins:
8
a incluso da
China ao mercado de bens e ao mercado de capitais dos Estados Unidos, que
permitiu sua arrancada exportadora e o acesso chins ao fnanciamento interna-
cional americano. Por outro lado, ela permitiu a maior e mais rpida expanso
do territrio econmico supranacional americano, pois potencializou signifcativa-
mente o poder do dlar e dos ttulos da dvida pblica do governo americano e
a capacidade de multiplicao do seu capital fnanceiro (FIORI, 2008, p. 67).
Em outras palavras, o acesso da China ao mercado americano foi um dos impor-
tantes elementos do processo de expanso da globalizao fnanceira conduzida
pelos Estados Unidos.
A retomada da supremacia americana, nos termos utilizados por Tavares
(1997), no fm da dcada de 1970, foi a origem do processo de liberalizao
fnanceira, integrao produtiva e abertura comercial. Neste sentido, a macroes-
trutura socioeconmica dos anos dourados do capitalismo centrada no pa-
dro de acumulao keynesiano-fordista, no Welfare State e no sistema monetrio
internacional (padro dlar ouro) criado a partir dos acordos de Bretton Woods
(BALANCO; PINTO, 2007; PINTO; BALANCO, 2009) foi completamente
reestruturada, abrindo espao para a promoo de nova rota de acumulao e de
poder para os capitais e o Estado americano por meio da expanso quase mundial
do modelo de desregulamentao neoliberal e da ampliao da acumulao com
o predomnio das fnanas.
Essa nova institucionalidade foi confgurada a partir da aliana entre o Es-
tado americano (Washington), em sua busca de acumulao de poder, e os segmen-
tos do capital estadunidense, especialmente o bancrio-fnanceiro (Wall Street), em
7. Alm dessa condio, Medeiros (1999) aponta outras duas condies, a saber: i) a ofensiva comercial ao Japo que
se materializou no Acordo de Plaza em 1985, provocando profundas transformaes na dinmica macroeconmica
regional do Sudeste Asitico; e ii) a complexa estratgia de segurana do governo chins que busca a armao da
soberania do Estado sobre o territrio e a populao por meio do desenvolvimento econmico e da modernizao da
indstria. Este ltimo componente ser desenvolvido frente.
8. Apesar da utuao econmica ocorrida no m da dcada de 1990, por conta dos impactos da crise asitica e da
reestruturao econmica das empresas estatais, e apesar da recente crise nanceira global, a China tem apresentado
excelentes taxas de crescimento econmico nas ltimas trs dcadas. Desde 1978, quando comeou a implementar
a poltica de abertura e reforma, a taxa de crescimento anual do produto interno bruto (PIB) real nas trs dcadas
seguintes foi de cerca de 11%, e a taxa de crescimento anual do PIB real per capita mantm-se em 10,8%. No novo
sculo, a China mantm seu impressionante desempenho econmico, mesmo aps as altas taxas de crescimento no
ltimo quarto de sculo (FANG; YANG; MEIYAN, 2009, p. 98).
25 O Eixo Sino-Americano e as Transformaes do Sistema Mundial
sua busca por riqueza. Seabrook (2001) afrma que essa dinmica foi construda a
partir do momento em que o governo americano abrandou as restries regulat-
rias que difcultavam aos bancos a prtica do fnanciamento direto.
Nesse sentido, a dinmica dos sistemas fnanceiros nacional e internacio-
nal valorizao e desvalorizao das aes, dos ttulos de dvida privada (bnus,
hipotecas, comercial papers, notas etc.) e pblica, das commodities, das moedas e
dos derivativos passou a infuenciar fortemente a dinmica da macroeconomia
mundial da renda e do emprego. Com isso, a rentabilidade fnanceira dos capitais
potencializada por um conjunto de ativos, agentes e instituies creditcio-fnan-
ceiras, representando um universo multifacetado indito vis--vis os tradicionais
agentes da esfera fnanceira. H uma nova institucionalidade composta por cor-
poraes, governos e agentes negociadores de papis e moedas das mais diferentes
modalidades, os quais remuneram os investidores com base em riqueza previamen-
te inexistente, acentuando, dessa maneira, o carter especulativo em seu interior
(CHESNAIS, 1996, 1997, 2001; BOYER, 1999; MCNALLY, 1999; SALAMA,
2000; BALANCO; PINTO, 2005).
O avano mundial do padro de acumulao fnanceirizado e do modelo
de regulao neoliberal, que foi sistematizado no Consenso de Washington
9
em
1989, portanto, foi o resultado do processo de retomada e do avano do poder
americano no sistema econmico e poltico mundial, especialmente nas dcadas
de 1980 e 1990. No campo econmico, um elemento importante do processo
de enquadramento americano aos seus scios e competidores econmicos foi a
deciso unilateral de elevar fortemente a sua taxa de juros, em 1979 estratgia
denominada de poltica Volcker , que provocou uma forte mudana de direo
nos fuxos de capitais (descolamento de capitais da Europa, do Japo e, principal-
mente, dos pases em desenvolvimento para os Estados Unidos) mesmo com as
reaes monetrias elevaes nas taxas de juros dos demais pases.
Esse redirecionamento dos fuxos de capitais gerou a apreciao do dlar,
deixando cada vez mais distante os anos de 1977 e 1978 em que essa moeda
apresentava sinais evidentes de sua fragilidade como unidade de reserva em esca-
la mundial em decorrncia da ameaa do marco alemo e do iene japons. Com
isso, o governo dos Estados Unidos deixava bem claro quem mandava na ordem
mundial capitalista. Esse ato de fora acabou por repercutir sobre os mais diver-
sos espaos nacionais, atingindo diferentes instncias regulatrias regionais; e
9. Em sntese, os pontos eram: i) a abertura comercial e nanceira da economia, tanto para bens quanto para o capital
estrangeiro; ii) a reduo drstica do tamanho do Estado o Estado mnimo , com redenio de suas funes na
direo da adoo do que eram consideradas funes tpicas do Estado: garantir a segurana aos cidados, o direito
propriedade e soberania nacional; iii) privatizaes, desregulamentao e exibilizao do cmbio; iv) reestruturao
do sistema previdencirio; v) investimentos em infraestrutura bsica; vi) scalizao dos gastos pblicos; e vii) polticas
sociais focalizadas.
26 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
foi o responsvel direto pela recesso de 1982 que fez desabar a economia norte-
-americana (queda de 1,9%) e tambm atingiu fortemente o restante do mundo
(crescimento de apenas 0,7%). Com o restabelecimento da ordem capitalis-
ta, os Estados Unidos comearam a adotar, no plano externo, um estilo mais
conciliador e, no plano econmico, uma reduo gradual de sua taxa de juros.
Quanto a este ltimo item, nem mesmo essa fexibilizao da poltica Volcker,
a partir de 1982, conseguiu restabelecer as taxas de crescimento pretritas tanto
do mundo (mdia anual de 3,6%, entre 1980 e 1989) como de diversas regies
e pases (entre 1980 e 1989, mdia anual de 1,9%, 3,5%, 2,5%, 2,6%, 2,3%
para Alemanha, Estados Unidos, Unio Europeia, frica Subsaariana, Amrica
Latina e Caribe, respectivamente). A exceo ocorreu na sia e tambm no Japo
e na China, onde se observou crescimento mdio anual, entre 1980 e 1989, de
6,5%, 4,1% e 10%, respectivamente (tabela 1).
TABELA 1
Taxas de crescimento real do PIB 1980-2010
(Em %)
Regio/pas
1980-
1989
1
1990-
1999
1
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2
2002-
2008
1
2000-
2009
1
Mundo 3,6 3,2 4,8 2,3 2,9 3,6 4,9 4,6 5,2 5,3 2,8 -0,6 4,8 4,6 4,1
Pases desenvolvidos 3,5 2,9 4,2 1,4 1,7 1,9 3,2 2,7 3,0 2,7 0,2 -3,2 2,7 2,7 2,3
Alemanha 1,9 2,0 3,2 1,2 0,0 -0,2 1,2 0,8 3,4 2,7 1,0 -4,7 3,3 1,0 1,1
Estados Unidos 3,5 3,6 4,1 1,1 1,8 2,5 3,6 3,1 2,7 1,9 0,0 -2,6 2,6 2,5 2,2
Japo 4,1 1,2 2,9 0,2 0,3 1,4 2,7 1,9 2,0 2,4 -1,2 -5,2 2,8 1,9 1,7
Unio Europeia 2,5 2,6 4,0 2,1 1,4 1,6 2,7 2,2 3,5 3,2 0,8 -4,1 1,7 2,2 2,2
Pases em
desenvolvimento
3,8 3,3 5,8 3,8 4,8 6,2 7,5 7,3 8,2 8,7 6,0 2,5 7,1 7,3 6,1
frica sub-saariana 2,6 2,5 3,6 4,9 7,4 5,0 7,2 6,3 6,4 7,0 5,5 2,6 5,0 6,4 5,9
Amrica Latina e
Caribe
2,3 3,4 4,2 0,7 0,5 2,1 6,0 4,7 5,6 5,7 4,3 -1,7 5,7 4,7 4,3
sia 6,5 8,0 6,7 5,8 6,9 8,2 8,7 9,5 10,4 11,4 7,7 6,9 9,4 8,7 8,0
China 10,0 9,7 8,4 8,3 9,1 10,1 10,1 11,3 12,7 14,2 9,6 9,1 10,5 10,1 9,9
Fonte: FMI (2010).
Elaborao do autor.
Notas: Em mdia.
Estimativa.
No plano das relaes externas, os Estados Unidos passaram a adotar um estilo
mais pluralista pautado na criao e no reforo de instrumentos de maior coor-
denao entre os pases capitalistas centrais por meio do fortalecimento das insti-
tuies multilaterais (Fundo Monetrio Internacional FMI, Banco Mundial e
27 O Eixo Sino-Americano e as Transformaes do Sistema Mundial
Organizao Mundial do Comrcio OMC)
10
ou por intermdio de uma coorde-
nao mais efetiva entre os bancos centrais do G-7 Acordo de Plaza (1985) e do
Louvre (1987). Cabe destacar que o Acordo de Plaza desvalorizao coordenada
do dlar abarcava a ofensiva comercial americana sobre o Japo, que acabou ge-
rando, por meio de seus mecanismos de transmisso, uma poltica macroeconmica
regional expansiva durante os anos 1980 e 1990 na sia.
11
preciso ressaltar que o Leste Asitico j vinha apresentando forte cresci-
mento desde a dcada de 1960.
12
No entanto, foi a partir dos efeitos do Acordo
de Plaza de 1985 que se verifcou uma dinmica macroeconmica regional inte-
grada e com extraordinrias taxas de crescimento asitico (de 6,5%, entre 1980 e
1989, e de 8% entre 1990 e 1999, em mdia anual tabela 1). Esse dinamismo
permitiu um crescimento sincronizado e em etapas entre pases com estgios de
desenvolvimento diferentes que foi denominado de modelo dos gansos voado-
res (PALMA, 2004; MEDEIROS, 1997).
Com a desvalorizao da moeda japonesa em relao ao dlar, a partir de
1995, e com o colapso fnanceiro do Sudeste Asitico de 1997, o modelo de
crescimento sincronizado e integrado dos gansos voadores se fragiliza e a China
comea a emergir, cada vez mais, como o centro da dinmica asitica, articulada
aos Estados Unidos. A manuteno de sua taxa nominal de iuane em relao
ao dlar e o lanamento de um programa de obras pblicas e de investimento
possibilitaram a acelerao da acumulao de riqueza e poder chins na sia, em
um contexto em que vrios pases da regio foram fortemente afetados pela crise
(MEDEIROS, 2006, 2008).
A crise asitica por si s no foi o fator da ascenso regional chinesa,
mas sim uma oportunidade, pois, na verdade, a ampliao do poder eco-
nmico e poltico da China na regio foi uma decorrncia de sua estrat-
gia de crescimento, centrada no desenvolvimento econmico e na moder-
nizao da indstria, que nasceu a partir das reformas iniciadas em 1978
13
e que teve em Deng Xiaoping seu principal idealizador. Estas reformas fo-
ram sendo construdas de forma paulatina entre 1978 e 1989, em virtu-
de da forte resistncia do segmento maosta do Partido Comunista Chins
10. Claro que nessas instncias de coordenao supranacional os Estados Unidos sempre tiveram maior poder de
deliberao. Ver Oliveira (1998) e Lichtenstejn e Baer (1987).
11. Para uma discusso mais detalhada sobre a dinmica de crescimento na sia, ver captulo 3 deste livro.
12. Esse crescimento foi fruto das polticas de reconstruo do ps-guerra e do apoio econmico dos Estados
Unidos desenvolvimento a convite , que tinha como objetivo conter a expanso do comunismo na regio.
13. A reforma iniciada pelo governo chins em 1978 pode ser resumida da seguinte maneira: i) ampla reforma na
utilizao da terra e possibilidade de comercializao do excedente agrcola, ii) agressivo programa de promoo de
exportaes e de proteo do mercado interno, iii) formao de grandes empresas estatais, iv) reformas das empresas
estatais e redenio da relao entre o planejamento e o mercado, v) promoo das empresas coletivas, e vi) transio
gradual de um sistema de preos controlados para um sistema misto de preos regulados, controlados e de mercado
(MEDEIROS, 1999).
28 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
(PCC).
14
Os eixos centrais dessa nova rota do modelo chins foram: i) des-
centralizao das decises econmicas por meio da delegao de poder para
as provncias e as autoridades locais; e ii) adoo de modelos gerenciais e
tecnologias do Ocidente. Esses eixos foram sendo confgurados em etapas a
partir da legitimao do princpio estratgico da abertura ao mundo exte-
rior e da evoluo pacfca (MARTI, 2007; CUNHA; ACIOLY, 2009).
As palavras de Deng Xiaoping, proferidas poca, deixam claras as suas pro-
postas:
preciso aprender a gerenciar a economia com meios econmicos. Se ns mesmos
no conhecemos a metodologia avanada desse gerenciamento, devemos aprend-la
com quem a conhece, em nosso pas ou no exterior. Esses mtodos devem ser aplica-
dos no apenas em operaes empresariais com tecnologias e materiais recentemen-
te importados, mas tambm na transformao tcnica das empresas existentes. At
podermos comear em campos limitados a introduo de um programa nacional
unifcado de gerenciamento moderno; digamos, uma regio em particular ou um
determinado comrcio e, a partir da, levar a aplicao do processo a outras reas
(apud MARTI, 2007, p. 2-3).
A estratgia institucional adotada por Deng, e seus seguidores, para criar
esse espao de aprendizado das prticas econmicas estrangeiras fora a confgura-
o das zonas econmicas especiais (ZEEs) que segundo Cunha e Acioly (2009)
nada mais eram do que zonas de processamento de exportaes (ZPEs) s que
em uma escala de operao muito superior s outras experincias asiticas , que
representou a delegao de parte do poder de decises econmicas da autoridade
central para as autoridades locais. Em julho de 1979, o Comit Central e o Con-
selho de Estado concederam a Shenzhen, Zhuhai, Shantou e Xiamen o status de
zonas especiais que foram confguradas com o objetivo de atrair investimentos
estrangeiros os quais, em contrapartida, introduziriam mtodos modernos de ad-
ministrao e tecnologias. Capitais estes que seriam atrados por benefcios conce-
didos pelo governo, tais como tarifas reduzidas, infraestrutura, menos burocracia,
salrios fexveis etc. Neste sentido, as
(...) atividades econmicas das ZEE deviam basear-se em condies de mercado,
ao contrrio do planejamento central, e empresrios estrangeiros que estivessem
14. Segundo Nonnemberg (2010), a China possui vrias instncias de poder, bem como diferentes correntes de pen-
samento nos vrios segmentos do PCC. Instituio esta que tem em seu congresso cerca de 2.200 delegados o
rgo-base das relaes de poder na China, pois l que so eleitos, de cinco em cinco anos, os membros do Comit
Central. O principal centro de poder, de onde emanam todos os demais, o Comit Central, atualmente com cerca de
200 membros. Acima dele, est o Bureau Poltico (Politburo), com 24 membros e, no topo, o Comit Permanente do
Politburo, com nove membros. O lder mximo o secretrio-geral, atualmente Hu Jintao, que o mais alto cargo na
estrutura de poder do pas. Subordinada ao PCC, est a Comisso Militar Central (CMC), abaixo da qual est o Exrcito
de Libertao do Povo (ELP). Atualmente, o presidente da CMC tambm Hu Jintao, mas, em alguns momentos, esse
foi o cargo mximo da China, pois foi o ltimo posto no qual Deng Xiao Ping se aposentou, em 1989, o mesmo ocor-
rendo com Jiang Zemin. Finalmente, h o presidente da Repblica tambm Hu e o Conselho de Estado, presidido
pelo premier (NONNEMBERG, 2010, p. 54-55).
29 O Eixo Sino-Americano e as Transformaes do Sistema Mundial
nas ZEE teriam tratamento diferenciado em relao a impostos e outras questes.
De um modo geral, as ZEE pretendiam implantar um sistema de gesto totalmen-
te diferente daquele prescrito para o interior do pas. (MARTI, 2007, p. 10).
O segundo momento do processo de abertura ao mundo exterior ocor-
reu com o pacote de 1984 em que foi autorizada a criao de catorze cidades
abertas entre as quais Xangai que poderiam negociar novos incentivos para
atrair capital estrangeiro. Cidades estas que foram denominadas de zonas de de-
senvolvimento econmico e tecnolgico (ZDET). Alm disso, o governo elimi-
nou, em 1986, o seu monoplio do comrcio exterior, possibilitando aos expor-
tadores e importadores mais liberdade para transacionar seus bens e servios, ao
mesmo tempo que introduziu um sistema de barreiras tarifrias e no tarifrias
(CUNHA; ACIOLY, 2009).
No fm da dcada de 1980, a poltica da abertura chinesa ao mundo exterior
adotada por Deng e seus sucessores enfrentou forte resistncia da linha marxista-
-lenisnista do PCC, em virtude do aumento das greves que reivindicavam reajus-
tes salariais fruto do aumento dos preos ao consumidor , de interrupes de
servios e protestos nas provncias contra a corrupo no partido e no governo,
que tiveram seu ponto maior na Tiananmen, em junho de 1989 manifestao
de estudantes chineses na Praa da Paz Celestial contra o governo e o PCC, a qual
foi fortemente reprimida. Para a linha do PCC contrria abertura, a infao
que chegou a cerca de 20% em 1988, uma das maiores do perodo histrico
recente chins , a corrupo e a compra de favores seriam fruto do processo de
abertura penetrao dos valores capitalistas burgueses e da descentralizao
das decises econmicas elevao das despesas das provncias no oradas no
plano central e que geraram aumento da emisso monetria e, por conseguinte,
crescimento da infao. Estes fatores internos, associados ao desmoronamento
do Partido Comunista da Unio Sovitica em 1991 ps-processo de liberali-
zao implementado por Michael Gorbachev provocaram o fortalecimento e a
tomada do poder, em 1991, da linha do PCC que pregava o reforo da disciplina
partidria, a centralizao do controle planejamento central e o fm do pro-
cesso de abertura (MARTI, 2007; NOGUEIRA, 2011).
Para evitar essa nova direo do PCC e do governo chins, Deng que estava
fora dos cargos ofciais da estrutura de governo, mas ainda exercia forte infuncia
em vrios segmentos da sociedade chinesa travou, entre 1991 e 1992, uma ampla
batalha para restabelecer suas diretrizes, bem como aceler-las. Depois de muitos
enfrentamentos, jogadas polticas e forte apoio dos lderes provinciais e do ELP,
Deng conseguiu seu objetivo e costurou o Grande Compromisso que, segundo
o Documento Central n
o
2 do Politburo de maro de 1992, garantiu o processo
de reformas e abertura por um perodo de 100 anos entre um amplo espectro
dos diversos segmentos do PCC (ancies, marxistas-leninistas, pr-abertura, lderes
30 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
locais, tecnocratas e o ELP) (MARTI, 2007; CUNHA; ACIOLY, 2009). O fo con-
dutor dessa costura foi o compromisso econmico que ensejava tornar a China uma
nao rica e poderosa na metade do sculo XXI. S se pode falar alto [no sistema
mundial] quando se tem muito dinheiro (DENG apud MARTI, 2007, p. 123).
A confgurao do Grande Compromisso signifcou a acelerao para os
padres do tempo histrico chins do princpio estratgico da abertura ao
mundo exterior por meio da expanso das ZEEs,
15
da descentralizao do pla-
nejamento central e de intenso processo de reformas nas empresas estatais.
16
Essa estratgia econmica e poltica da China, iniciada em 1978 e reforada em
1992, gerou dois padres de crescimento que se articulam. Por um lado, a pro-
moo das exportaes, a partir das ZEEs e, por outro, a do desenvolvimento
interno, por meio da elevao dos investimentos pblicos em infraestrutura e de
polticas indstrias destinadas gerao de ganhos gerenciais e produtivos das
empresas chinesas, em especial as estatais, que no se encontravam sob o regime
das ZEEs. Essa dinmica interna, pautada pela elevao dos investimentos em
infraestrutura, foi fortemente impulsionada pelas amplas reformas do sistema de
fnanciamento chins.
17
Para Deng, de modo amplo, a complexa estratgia de
crescimento da China criada por ele e seu grupo signifcou
15. Segundo Cunha e Acioly (2009, p. 360), entre 1992-1993, foram criadas mais 18 ZDETs. Ademais, institui-se uma
nova modalidade de ZEE, a chamada Zona de Desenvolvimento de Alta Tecnologia. No comeo dos anos 2000, com
o programa de desenvolvimento do Oeste do pas, foram sendo criadas ZEEs no interior ocidental. Assim por volta de
2003, o pas contava com pouco mais de 100 ZEEs reconhecidas pelo governo.
16. Ao longo da dcada de 1990, a China adotou uma poltica industrial de escolha dos grupos estatais mais estrat-
gicos ao estilo coreano. Neste sentido, o governo selecionou 120 grupos empresariais para formar um national team
em setores de importncia estratgica em uma direo explicitamente inspirada nos Chaebol coreanos voltada ao
enfrentamento das grandes empresas multinacionais nos mercados chineses e mundiais. Em sua poltica de manter
as grandes empresas pblicas e deixar escapar as menores a estratgia era diversicar simultaneamente as expor-
taes por meio de poltica tecnolgica, de investimentos e da modernizao da infraestrutura, de forma a integrar
populaes e territrios do interior. Diversos centros de tecnologia foram desenvolvidos. Foram estabelecidas dezenas
de ZDET como as em Daliam, Tiajin, Fuzhou, Pequim, Xangai especialmente concebidas para formarem polos de
crescimento voltados para a economia como um todo. Estas zonas passaram a receber massivos investimentos do
governo em infraestrutura e muitas criaram parques industriais em alta tecnologia (MEDEIROS, 2006, p. 386).
17. At 1985, os bancos da China eram caixas das nanas do governo geridos pelo Banco do Povo subordinado
ao Ministrio das Finanas (MOF) , que exercia ao mesmo tempo as funes de banco central, comercial e de desen-
volvimento, alm de atuar na gesto da taxa de cmbio, dos juros e das reservas internacionais. Com o avano das
reformas do sistema nanceiro, em 1985, parte das atividades do Banco do Povo foi distribuda entre quatro bancos
estatais, a saber: Agricultural Bank of China (ABC), Bank of China (BOC), China Construction Bank (CCB) e Industrial
and Commercial Bank of China (ICBC). Mais frente, em 1993, foram criados: i) trs policy banks (bancos de desen-
volvimento): Agricultural Development Bank of China, China Development Bank e Export-Import Bank of China, que
tinham como funo o nanciamento de projetos autorizados pela Comisso Nacional de Reforma e Desenvolvimento;
ii) doze bancos comerciais de capital misto e 112 city commercial banks; e iii) ampliao de cooperativas de crdito e
de instituies nanceiras no bancrias (CINTRA, 2009). Para Cintra (2009, p. 145), mesmo aps as reformas o siste-
ma nanceiro chins permaneceu dominado pelos bancos (os quatro bancos comerciais, os 12 joint stock commercial
banks, os 111 city commercial banks e os trs bancos criados para fornecer crdito a setores especcos) e mantidos
sob controle dos diversos nveis da administrao pblica central, provincial e local. O avano das reformas caminhou
no sentido de melhorar a competitividade, mas preservar o controle estatal do ncleo central do sistema, qual seja, os
quatro bancos comerciais, que detinham a maioria dos ativos bancrios e extensas redes de agncias e os trs policy
banks, diretamente envolvidos com a execuo de polticas pblicas. Esse sistema bancrio, amplamente regulamen-
tado, gerenciava a poupana das famlias e das empresas e fornecia grande parte do funding para as corporaes
pblicas e privadas , desempenhando papel crucial no processo de desenvolvimento do pas. Para uma anlise e
descrio mais detalhada da reorganizao do sistema nanceiro chins, ver Cintra (2009).
31 O Eixo Sino-Americano e as Transformaes do Sistema Mundial
(...) uma srie de novas polticas, notadamente a poltica da reforma e a poltica da
abertura, tanto interna como externa. Marcamos uma nova linha mestra que iria
mudar o foco de nosso trabalho para a construo econmica, derrubando todos os
obstculos e devotando todas as nossas energias ao avano da modernizao socialis-
ta [ao estilo chins, que signifca qualquer coisa que aumentasse a riqueza e o padro
de vida da populao]. Para alcanar a modernizao, implementar a reforma e fazer
a abertura poltica, precisamos, internamente, de estabilidade poltica e unidade e,
externamente, de um ambiente internacional pacfco. Com isto em mente, frma-
mos uma poltica externa que, em essncia, cifra-se na oposio ao hegemonismo e
na preservao da paz mundial (DENG apud MARTI, 2007, p. 273).
Alm da China e do Sudeste Asitico, o outro polo da dinmica do cresci-
mento mundial na dcada de 1990 foi a economia americana crescimento de
3,6% em mdias anuais entre 1990 e 1999. No plano externo, o fm da URSS
em 1989 para alm de todos os seus outros impactos econmicos, sociais e
polticos foi um dos elementos importantes para se compreender o crescimen-
to econmico dos Estados Unidos, pois isso gerou a ampliao do seu territrio
econmico supranacional em virtude do segundo estgio do processo de expanso
territorial da globalizao para regies que at ento estavam excludas do pro-
cesso de liberalizao fnanceira, de integrao produtiva e de abertura comercial,
notadamente o Leste Europeu e a Amrica Latina.
No plano interno, o crescimento do produto e emprego dos anos 1990 nos
Estados Unidos foi impulsionado pela revoluo da informtica do Vale do Sil-
cio, que teve profundo impacto na reestruturao industrial,
18
e pela expanso do
processo de fnanceirizao (fnance led growth), uma vez que as aes e os ttulos
transformaram-se em um fundamento decisivo para a promoo do consumo e
para o incremento do investimento, dado o efeito renda e riqueza desses ativos
fnanceiros. Nessa situao, as bolsas de valores tornaram-se mecanismo essencial
de alocao do capital e de controle da gesto das frmas. Vale ressaltar que esse
mecanismo de alocao esteve sob forte infuncia das polticas monetrias prati-
cadas pelo Federal Reserve (Fed)
19
e pelo padro monetrio internacional (dlar
fexvel) (BOYER, 1999; BRENNER, 2003; CHESNAIS, 2001).
18. Embora a liderana do processo de crescimento dos Estados Unidos no perodo tenha sido decorrncia da expan-
so do mercado nanceiro, no se pode ignorar que parte desse crescimento tinha uma base real na forma de ganhos
de produtividade oriundos das comunicaes.
19. No incio da dcada de 1990, o Fed reduziu a taxa de juros bsica, para combater o pequeno crescimento de 1991,
gerando aumento na liquidez. Parte dessa liquidez, em um contexto de ampliao da desregulamentao nanceira
implementada pelo prprio Fed, foi direcionada para mercado acionrio. Em um segundo momento, entre 1995 e
1998, o mercado de aes, sobretudo o das empresas ligadas nova economia, foi impulsionado, internamente, pelo
regime de crdito fcil e, externamente, pela criao de um diferencial positivo entre os juros nominais americano,
e europeu e japons (valorizao do dlar Acordo de Plaza invertido), que provocou uma signicativa entrada de
capitais externos nos Estados Unidos, sendo que parte desse uxo foi direcionado para o mercado de capitais. Estes
uxos de capital externo aumentaram ainda mais a exuberncia irracional do mercado e a valorizao das aes
gerando uma verdadeira bolha especulativa, onde os preos das aes cresciam a nveis recordes (SERRANO, 2004,
p. 209-210).
32 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
O novo contexto geopoltico e geoeconmico mundial dos anos 1990
caracterizado pelo fm da Guerra Fria, pelo reenquadramento americano dos seus
aliados e concorrentes e pela segunda etapa do processo de globalizao foi
marcado pela ampliao do poder americano no plano poltico ressurgimento
do seu projeto de imprio mundial
20
e econmico a partir da expanso do seu
territrio econmico supranacional, ampliando tambm as relaes econmicas
(fuxos comerciais e fnanceiros) com a China em virtude do processo de integra-
o comercial, produtiva e fnanceira (incluindo a praa fnanceira de Hong Kong
que volta ao controle da China em 1997).
Pelo lado da trajetria das relaes polticas bilaterais entre China e Estados
Unidos, verifcou-se um movimento diferente do econmico, ao longo da dcada
de 1990, pois aquele perodo fora marcado pelo aumento das tenses entre estes
dois pases a partir do episdio da Tiananmen, em junho de 1989, que gerou
sanes econmicas contra a China que perduraram at 1999. Alm disso, outros
episdios foram marcantes para aumentar o confito poltico, tais como a no
assinatura do presidente Clinton do acordo que empenharia o apoio dos Estados
Unidos ao ingresso da China na OMC, o aumento das vendas de armas para
Taiwan provncia rebelde na concepo do governo chins , o bombardeio
por engano da Embaixada da China em Belgrado, Srvia, em 7 de maio de 1999,
durante os ataques areos da Organizao do Tratado do Atlntico Norte (Otan)
e a coliso de uma aeronave espi dos Estados Unidos com um caa chins sobre
o mar do sul da China, em abril de 2001 (LEO, 2009; ZUGUI, 2010).
O aumento das tenses entre Estados Unidos e China no plano poltico,
ao longo da dcada de 1990, no impediram o avano econmico da China,
j que ela tinha alcanado as condies econmicas estruturais
21
para manter o
seu crescimento econmico extraordinrio, alavancado ainda mais com a estra-
tgia interna do Grande Compromisso, em 1992, que ensejava o enfrentamento
sequencial dos estrangulamentos da economia, combinando de forma distinta
os mecanismos de planejamento e do mercado por meio da descentralizao do
planejamento central, da concentrao das empresas estatais e da ampliao da
concorrncia (MEDEIROS, 1999; FIORI, 2008).
20. No mbito do sistema poltico internacional, os Estados Unidos, a partir de 1991, buscaram construir um imprio
mundial liberal-cosmopolita, retomando a construo do projeto imperial. Henry Kissinger (apud FIORI, 2004, p. 94)
armou que os Estados Unidos enfrentaram, em 1991, pela terceira vez na sua histria [1918 e 1945], o desao de
redesenhar o mundo sua imagem e semelhana (...).
21. Entre as condies estruturais internas destacam-se: i) elevado funding com um sistema bancrio amplamente
regulamentado que direcionou esse recurso para os investimentos considerados cruciais no processo de desenvolvi-
mento; ii) elevados supervits no balano de pagamentos que possibilitaram ao mesmo tempo o acmulo de reservas
em moeda estrangeira e a gesto da poltica cambial que busca promover as exportaes e controlar as importaes;
e iii) elevao da produtividade do trabalho e dos fatores de produo economias de escala e de escopo ao mesmo
tempo , notadamente nos segmentos intensivos em tecnologia, na dcada de 2000, e tambm nos intensivos em
trabalho, especialmente nos anos 1990.
33 O Eixo Sino-Americano e as Transformaes do Sistema Mundial
Os atentados de 11 de Setembro de 2001 signifcaram uma nova reaproxima-
o das relaes polticas entre a China e os Estados Unidos, ao longo da dcada de
2000, que perdurou at a crise internacional de 2008. Esta reaproximao foi poss-
vel com o apoio chins na empreitada americana de combate ao terrorismo interna-
cional, sobretudo no Afeganisto e Iraque, e com a assinatura do presidente George
W. Bush do acordo de apoio americano ao ingresso da China na OMC. Aps a
crise internacional de 2008, contudo, essa aproximao poltica passou a enfrentar
srias conturbaes, devido elevao das tenses comerciais guerra cambial e
elevados dfcits americanos com a China , em um contexto em que a economia
americana apresenta baixo crescimento do produto e elevado desemprego.
No plano das relaes econmicas entre China e Estados Unidos, verifcou-
-se que os fuxos comerciais e fnanceiros durante a dcada de 2000 aproximaram
ainda mais as economias desses dois pases devido maior integrao produtiva em
curso. Parece que a crise internacional de 2008 acelerou o processo de integrao
econmica entre esses dois pases, reforando a importncia do eixo sino-america-
no em suas complementaridades econmicas comercial, produtiva e fnanceira.
Por um lado, a crise internacional tambm provocou o aumento da competio
entre os Estados Unidos e a China pela acumulao de poder mundial.
3 AS DIMENSES COMERCIAIS, PRODUTIVAS E FINANCEIRAS DO EIXO
SINO-AMERICANO NO INCIO DO SCULO XXI
A dinmica de acumulao de riqueza e poder no mbito mundial, ao longo
da dcada de 1990, confgurou uma relao siamesa no mbito econmico
comercial, produtivo e fnanceiro entre a economia americana e a chinesa.
Vejamos agora de forma mais detalhada as relaes de complementaridade e
de competio entre China e Estados Unidos no plano comercial, produtivo
e fnanceiro, bem como como estas dimenses se articulam.
3.1 O comrcio: a ponta do iceberg
No plano comercial, a relao sino-americana ao longo da dcada de 2000 foi marcada
pelo i) aumento da corrente de comrcio (exportaes + importaes) acima da cor-
rente mundial; pela ii) elevao do dfcit comercial americano com a China; pelo iii)
aumento das exportaes de produtos de baixo valor agregado dos Estados Unidos para
a China, especialmente as de produtos no industriais; e pela iv) expanso explosiva
da participao de produtos de maior valor agregado das exportaes chinesas para os
Estados Unidos. Na verdade, essas mudanas foram o refexo do processo de ampliao
da integrao comercial nos anos 2000, que conectou novos fuxos centrados no im-
pressionante crescimento das exportaes e importaes chinesa e americana.
Assim como nas ltimas duas dcadas do sculo XX, a dinmica do comrcio
internacional, entre 2000 e 2009, apresentou crescimento elevado (de 9,4% e de 9,3%
para as exportaes e importaes, respectivamente, em mdias anuais tabela 2), mui-
34 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
to superior ao crescimento do produto mundial no mesmo perodo (3,6% em mdias
anuais). Para Macedo e Silva (2010, p. 144), essa maior dinmica do comrcio em
relao ao produto deriva do processo de crescente integrao comercial entre os pases
desde o incio da dcada de 1980, sendo este um dos elementos que caracterizam a
era da globalizao: liberalizao fnanceira, integrao produtiva e abertura comercial.
A despeito da manuteno dessa particularidade do comrcio mundial, o
perodo compreendido entre 2000 e 2009 foi marcado por mudanas signifcativas
no processo de integrao comercial tanto no que diz respeito ao seu volume quan-
to localizao dos seus fuxos. Se, por um lado, verifcou-se crescimento explosivo
das exportaes (de US$ 249 bilhes em 2000 para US$ 1,202 trilho em 2009) e
das importaes (de US$ 225 bilhes em 2000 para US$ 1,004 trilho em 2009)
chinesas para o mundo, por outro lado, observou-se tambm baixo crescimento
das exportaes (3,5% em mdias anuais) e das importaes (2,7% em mdias
anuais) americanas destinadas ao conjunto de todos os pases. Crescimentos estes
inferiores elevao das taxas de exportaes e importaes mundiais (tabela 2).
TABELA 2
Evoluo das exportaes e importaes mundo, Estados Unidos e China, 1980-2010
(Em US$ bilhes correntes)
Exportaes Importaes
China Mundo Estados Unidos Mundo Mundo China Mundo Estados Unidos Mundo Mundo
mdia
(1980-1989)
31 250 2.169 35 351 2.214
mdia
(1990-1999)
129 552 4.525 114 737 4.665
2000 249 782 6.360 225 1.259 6.594
2001 266 729 6.127 244 1.179 6.377
2002 326 693 6.419 295 1.200 6.615
2003 438 725 7.465 413 1.303 7.729
2004 593 819 9.123 561 1.525 9.458
2005 762 907 10.437 660 1.735 10.744
2006 969 1.038 12.107 792 1.918 12.331
2007 1.218 1.163 13.826 956 2.020 14.303
2008 1.429 1.301 15.975 1.132 2.169 16.509
2009 1.202 1.057 12.353 1.004 1.605 12.735
mdia
(2000-2009)
678 863 9.780 611 1.565 10.101
2010
1
990 823 9.474 886 1.277 9.824
Fonte: Direo de Estatsticas Comerciais/FMI.
Elaborao do autor.
Nota: Acumulado dos trs primeiros trimestres do ano.
35 O Eixo Sino-Americano e as Transformaes do Sistema Mundial
Essa dinmica das exportaes e importaes chinesas e americanas provo-
cou mudanas signifcativas em seus respectivos market-share. Neste sentido, a
China passou condio de maior exportador e de segundo maior importador
mundial. Os dados na tabela 3 evidenciam a extraordinria mudana de posio
chinesa em to pouco tempo. Em 2000, 3,9% e 3,4% das exportaes e im-
portaes de bens, respectivamente, originavam-se da China, ao passo que em
2008 essa participao saltou para 8,9% e 6,9%. Cabe observar que aps a crise
internacional de 2008 essa tendncia se acelerou, pois a participao chinesa nas
exportaes e importaes mundiais saltou de 9,7% em 2009 para 10,4% em
2010 e de 7,9% em 2009 para 9% em 2010, respectivamente. Quanto aos Es-
tados Unidos, verifcou-se perda substancial de market-share das exportaes (de
12,3% em 2000 para 8,7% em 2010) e das importaes (de 19,1% em 2000 para
13% em 2010) mundiais.
TABELA 3
Participao nas exportaes e importaes globais em US$ correntes Estados
Unidos e China, 1980-2010
(Em %)
Exportaes Importaes
Estados Unidos China Estados Unidos China
1980-1989 11,6 1,4 15,9 1,6
1990-1999 12,2 2,9 15,6 2,6
2000 12,3 3,9 19,1 3,4
2001 11,9 4,3 18,5 3,8
2002 10,8 5,1 18,1 4,5
2003 9,7 5,9 16,9 5,3
2004 9,0 6,5 16,1 5,9
2005 8,7 7,3 16,1 6,1
2006 8,6 8,0 15,6 6,4
2007 8,4 8,8 14,1 6,7
2008 8,1 8,9 13,1 6,9
2009 8,6 9,7 12,6 7,9
2010 8,7 10,4 13,0 9,0
Fonte: Direo de Estatsticas Comerciais/FMI.
Elaborao do autor.
Nota: Acumulado nos trs primeiros trimestres do ano.
Alm da alterao do market-share mundial, a elevao das importaes e das
exportaes chinesas transformou a corrente de comrcio mundial. Entre 2000
e 2009, a corrente aumentou 4,6 vezes entre a China e o mundo, 1,3 vez entre
36 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
os Estados Unidos e o mundo, 1,9 vez no mundo e 3,1 vezes entre os Estados
Unidos e a China (grfco 1). Essa evoluo evidencia que a China foi a grande
responsvel pela mudana recente dos fuxos comerciais mundiais (grfco 1).
GRFICO 1
Evoluo da corrente de comrcio mundo, Estados Unidos e China, 2000-2009
(2000 = 100)
(Em US$ correntes)
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Chinamundo Estados Unidosmundo Mundo Estados UnidosChina
Fonte: Direo de Estatsticas Comerciais/FMI.
Elaborao do autor.
Nota: Soma das exportaes e importaes.
As correntes de comrcio entre a China e os Estados Unidos e entre a China
e o mundo elevaram-se em velocidade maior do que a corrente mundial. Isso
mostra a importncia do papel desempenhado pelo comrcio internacional na
estratgia de crescimento chins. Existem vrios elementos explicativos para esta
expanso que vo desde a poltica cambial chinesa manuteno da moeda des-
valorizada em relao ao dlar , passando por salrios baixos e ganhos de pro-
dutividades da economia at o acesso da China OMC, em novembro de 2001.
Este ltimo aspecto ressalta a importncia dada pelo governo chins ao papel do
comrcio internacional no seu crescimento econmico. Neste sentido,
(...) a China, ao transformar o comrcio internacional em ponto central da sua
poltica de crescimento, necessitava da garantia das regras da OMC de que suas
exportaes no seriam descriminadas.
Para os membros da OMC, a entrada da China signifcava a abertura de
um vasto mercado, e a garantia de que as regras existentes poderiam controlar a
invaso dos produtos chineses (THORSTENSEN, 2010-2011, p. 12).
37 O Eixo Sino-Americano e as Transformaes do Sistema Mundial
O acesso da China OMC no gerou apenas bnus, mas tambm custos
ao pas, pois as regras de acesso foram mais duras do que as impostas para outros
pases em ascenso. Entre as vrias regras, pode-se destacar a concesso apenas
parcial da China ao status de pas em desenvolvimento (PED), que, entre outras
coisas, implicou a proibio de exigncia chinesa de transferncia tecnolgica dos
investimentos externos (THORSTENSEN, 2010-2011). Cunha e Acioly (2009)
afrmam que diversos observadores secretariado da OMC, acadmicos especia-
lizados em comrcio exterior, governo dos Estados Unidos etc. tm reconhecido
os avanos do governo chins na promoo de um ambiente institucional mais
aberto e que, de modo geral, a China tem cumprido os compromissos assumi-
dos para a entrada na OMC. No entanto, estes mesmos observadores ressaltam
que, apesar dos esforos de adequao, os marcos regulatrios na China ainda
esto longe de operar de forma semelhante s economias mais maduras. O (...)
governo chins segue utilizando mecanismos de poltica industrial para distorcer
preos de mercado de modo a favorecer o crescimento de empresas e setores pre-
viamente escolhidos, dado que as leis e regulamentaes na China ainda esti-
mulam a transferncia de tecnologia, os subsdios exportao e o uso de insumos
locais (CUNHA; ACIOLY, 2009, p. 364).
A despeito da importncia do comrcio internacional para a estratgia de cres-
cimento da China, preciso destacar que essa dinmica muito mais complexa do
que a ideia simplista do modelo de crescimento orientado para fora proposto pelo
Banco Mundial. Na perspectiva desta instituio, o crescimento asitico a partir da
segunda metade do sculo XX includa a China nesse processo teria sido fruto de
polticas de neutralidade de incentivos tarifas comerciais, taxa de cmbio etc. e de
abertura externa s importaes, gerando uma suposta alocao efciente de recursos
(BANCO MUNDIAL, 1993; MEDEIROS; SERRANO, 2001; CUNHA, 2010).
Na verdade, a expanso da corrente de comrcio chinesa fruto de uma estratgia
econmica e poltica complexa de crescimento.
Alm do aumento da corrente de comrcio entre China e Estados Unidos, o
segundo elemento signifcativo dessa relao comercial, ao longo dos anos 2000,
foi a elevao do dfcit comercial americano com a China. O dfcit da balana
comercial bilateral, entre 2000 e 2008, elevou-se em 219% (de US$ 84 bilhes
para US$ 268 bilhes). Esse crescimento do dfcit ocorreu mesmo com a expanso
das exportaes americanas para a China (de 334%, passando de US$ 16 bilhes
para US$ 71 bilhes), pois as importaes americanas, oriundas da China, tambm
cresceram de forma signifcativa (de 238%, passando de US$ 100 bilhes para US$
339 bilhes). Aps a crise internacional de 2008, verifcou-se que as exportaes
americanas para a China caram em velocidade menor do que as importaes, ge-
rando reduo dos dfcits comerciais entre os pases em 2009 (US$ 227 bilhes) e
nos trs primeiros trimestre de 2010 (US$ 201 bilhes) (grfco 2).
38 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
GRFICO 2
Exportaes, importaes e saldo comercial dos Estados Unidos para a China conti-
nental 2000-2010
(Em US$ bilhes)
16 19
22
29
35
42
55
64
71 70
64
-100
-103
-125
-153
-197
-244
-289
-322
-339
-297
-
-265
-84 -83
-103
-124
-162
-203
-234
-258 -268
-227
-201
-340
-290
-240
-190
-140
-90
-40
10
60
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaes Importaes
Balana comercial
2010
1
Fonte: Direo de Estatsticas Comerciais/FMI.
Elaborao do autor.
Nota: Acumulado nos trs primeiros trimestres do ano.
Os Estados Unidos tambm apresentaram crescimento em seus dfcits co-
merciais com o resto do mundo incluindo China , entre 2000 e 2008 (de
US$ 446 bilhes para US$ 567 bilhes: crescimento de 87%), os quais, contudo,
reduziram-se em ritmo acelerado aps a crise internacional (US$ 507 bilhes
em 2009 e US$ 486 bilhes nos trs primeiros trimestres de 2010). Cabe des-
tacar ainda que, entre 2000 e 2010, os dfcits comerciais entre Estados Unidos
e China contriburam cada vez mais para ampliar os dfcits comerciais daquele
pas com o mundo (de 18,8% do dfcit comercial total em 2000 para 31,1%
em 2008); inclusive essa participao se acelerou aps a crise (44,7% em 2009
e 41,4% nos trs primeiros trimestres de 2010). Pelo lado chins, observaram-se
tambm dfcits comerciais com o resto do mundo excluindo os Estados Uni-
dos entre 2000 e 2005, que foram revertidos para supervits em 2006, 2007,
2008 e 2009 (grfco 3).
39 O Eixo Sino-Americano e as Transformaes do Sistema Mundial
GRFICO 3
Evoluo do saldo comercial mundo, Estados Unidos e China, 2000-2010
(Em US$ bilhes)
-362
-339
-372
-417
-503
-581
-605
-565
-567
-280 -284
33
126
54
-33 -48
-11
-6
-12
-12
-6
98
-84 -83
-103
-124
-162
-203
-234
-258
-268
-227
-201
-610
-510
-410
-310
-210
-110
-10
90
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1
Estados Unidos mundo (exceto China)
1
China mundo (exceto Estados Unidos)
Estados Unidos China
1
Fonte: Direo de Estatsticas Comerciais/FMI.
Elaborao do autor.
Nota: Acumulado nos trs primeiros trimestres do ano.
No plano comercial, o terceiro elemento importante da relao sino-ameri-
cana foi a reduo na participao das importaes chinesas de maior valor agre-
gado oriundas dos Estados Unidos. Esta foi uma tendncia contrria observada
nas importaes industriais de alta intensidade tecnolgicas chinesas originrias
do mundo (de 27,7%, no acumulado entre 1990 e 1994, para 43,6% no acumu-
lado entre 2005 e 2009). Entre 1990 e 2009, verifcou-se expanso signifcativa
em valor das importaes industriais chinesas oriundas dos Estados Unidos (de
US$ 61,2 bilhes, no acumulado entre 1990 e 1994, para US$ 267 bilhes, no
acumulado entre 2005 e 2009) que no foi sufciente para aumentar a participa-
o desse tipo de importaes. Pelo contrrio, o que se observou foi a reduo da
participao das importaes industriais (de 74,6%, em 1990-1994, para 66,6%,
em 2005-2009), em especial as importaes industriais de alta intensidade tecno-
lgica (de 45,2%, em 1990-1994, para 41,9%, em 2005-2009). A contrapartida
disto foi que as importaes de produtos no industriais (commodities primrias),
no mesmo perodo, cresceram tanto em termos de valor (de US$ 13,8 bilhes,
no acumulado entre 1990 e 1994, para US$ 107,9 bilhes, no acumulado entre
2005 e 2009) como em participao (de 16,8%, em 1990-1994, para 26,8%,
em 2005-2009) (tabela 4).
40 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
Apesar desse signifcativo aumento da participao de commodities prim-
rias, a maioria das importaes chinesas dos Estados Unidos ainda de produtos
industriais (66,6% em mdia entre 2005 e 2009), sobretudo os de alta intensida-
de tecnolgica (41,9% em mdia entre 2005 e 2009). Alm disso, entre 1990 e
1994 e 2005 e 2009, as importaes industriais e as industriais de alta intensidade
tecnolgicas cresceram em valor 336,3% e 354,1%, respectivamente (tabela 4).
TABELA 4
Evoluo das importaes chinesas originrias dos Estados Unidos por intensidade
tecnolgica valor acumulado para perodos 1990-2009
(Em US$ correntes)
Intensidade
1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2009
Valor Participao
(%)
Valor Participao
(%)
Valor Participao
(%)
Valor Participao
(%)
Produtos industriais 61,2 74,6 101,9 76,7 142,3 74,3 267,0 66,6
Alta intensidade
tecnolgica
37,0 45,2 64,0 48,1 90,9 47,5 168,0 41,9
Baixa intensidade
tecnolgica
1,4 1,7 2,4 1,8 3,7 1,9 9,2 2,3
Mdia intensidade
tecnolgica
15,9 19,4 24,3 18,3 34,7 18,1 67,7 16,9
Trabalho e recursos
naturais
6,9 8,4 11,2 8,4 13,0 6,8 22,2 5,5
No classicados 7,1 8,6 7,8 5,8 12,0 6,3 26,5 6,6
Produtos no industriais 13,8 16,8 23,2 17,5 37,1 19,4 107,6 26,8
Total 82,0 100,0 132,9 100,0 191,4 100,0 401,1 100,0
Fonte: Comtrade/ONU.
Elaborao do autor.
Nota: Classicao extrada de OCDE (2003).
A reduo na participao do contedo tecnolgico das importaes chi-
nesas oriundas dos Estados Unidos tambm observada na evoluo da parti-
cipao total e da posio dos dez principais produtos importados segundo
classifcao Standard International Trade Classifcation (SITC) rev.2 com trs
dgitos. Em 1990, os dez principais produtos de importao somavam 8,6%
do total e concentravam-se em aeronaves (5,3%, 1
a
posio) e fertilizantes
(0,7%, 2
a
posio). Em 2000, os dez principais produtos importados tota-
lizavam 39,8% do conjunto, sendo que assumem a 1
a
, a 2
a
e a 3
a
posies
os seguintes produtos: sementes e frutos oleaginosos (9,8%), incandescentes,
microcircuitos, transistores e vlvulas (7,1%) e aeronaves (5,6%) (tabela 5).
41 O Eixo Sino-Americano e as Transformaes do Sistema Mundial
TABELA 5
Evoluo da participao e da posio dos dez principais produtos importados pela
China originados dos Estados Unidos 1990-2009
Produtos
2009 2000 1990
% Posio % Posio % Posio
Sementes e frutos oleaginosos, inteiros ou partidos, para
a fabricao de leos
9,8 1 1,2 5
Incandescentes, microcircuitos, transistores, vlvulas etc. 7,1 2 1,5 3
Aeronaves, equipamentos e suas partes 5,6 3 1,5 2 5,3 1
Medio, anlise de vericao e controle de instrumentos 3,6 4 1,0 6 0,3 6
Produtos de polimerizao e copolimerizao 3,3 5 0,7 7
Resduos de papel e celulose 2,6 6 0,7 8
Automveis de passageiros exceto nibus 2,3 7
Produtos qumicos diversos 2,2 8
Sucata de ferro ou ao 1,7 9
Peas no eltricas e acessrios de mquinas 1,6 10
Algodo 0,4 4
Mquinas automticas para processamento de dados e
suas unidades
1,3 4 0,2 10
Outras mquinas, aparelhos e equipamentos para
indstrias especializadas
0,6 9 0,3 5
Equipamentos de telecomunicaes 5,4 1
Fertilizantes 0,6 10 0,7 2
Trigo e centeio 0,7 3
Engenharia civil, instalaes contratadas e equipamentos
e suas partes
0,3 7
Madeira em estado bruto ou simplesmente esquadriada 0,2 8
cidos carboxlicos e seus derivados 0,2 9
Fonte: Comtrade/ONU.
Elaborao do autor.
O quarto elemento representativo da relao sino-americana, no plano co-
mercial, foi o aumento explosivo da participao de produtos de maior valor agre-
gado nas exportaes chinesas para os Estados Unidos. A anlise da evoluo das
exportaes por intensidade tecnolgica, entre 1990 e 2009, evidencia o aumento
signifcativo do volume e da participao das exportaes industriais com maior
valor agregado. As exportaes de produtos industriais de alta e mdia intensidade
tecnolgica foram as que mais cresceram em valor (de US$ 56,9 bilhes, no acu-
mulado entre 1990 e 1994, para US$ 700 bilhes, no acumulado entre 2005 e
42 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
2009) e em participao (de 28,8% em 1990-1994 para 53,9% em 2005-2009).
Ao passo que produtos industriais exportados intensivos em trabalho e recursos
naturais tiveram forte reduo na participao total (de 57,7%, em 1990-1994,
para 31,3%, em 2005-2009), mesmo com aumento em seu valor (de US$ 114,1
bilhes no acumulado entre 1990 e 1994, para US$ 407,2 bilhes, no acumulado
entre 2005 e 2009) (tabela 6). preciso destacar que esta tendncia de aumento
do contedo tecnolgico das exportaes chinesas para os Estados Unidos tambm
verifcada para as exportaes chinesas ao resto do mundo a participao das
exportaes chinesas para o mundo de produtos industriais de alta e mdia intensi-
dade tecnolgica aumentou de 32,6% em 1990-1994 para 58,6% em 2005-2009.
TABELA 6
Evoluo das exportaes chinesas originrias dos Estados Unidos por intensidade
tecnolgica, valor acumulado para perodos 1990-2009
(Em US$ correntes)
Intensidade
1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2009
Valor Participao
(%)
Valor Participao
(%)
Valor Participao
(%)
Valor Participao
(%)
Produtos industriais 179,2 90,7 340,4 92,5 572,7 92,8 1.207,7 92,9
Alta intensidade
tecnolgica
36,8 18,6 87,7 23,8 186,0 30,1 477,5 36,8
Baixa intensidade
tecnolgica
8,3 4,2 22,1 6,0 48,2 7,8 100,5 7,7
Mdia intensidade
tecnolgica
20,1 10,2 48,3 13,1 97,1 15,7 222,5 17,1
Trabalho e recursos
naturais
114,1 57,7 182,3 49,5 241,5 39,1 407,2 31,3
No classicados 13,1 6,6 20,4 5,6 32,3 5,2 58,2 4,5
Produtos no industriais 5,2 2,6 7,2 1,9 12,5 2,0 33,4 2,6
Total 197,5 100,0 368,0 100,0 617,5 100,0 1.299,3 100,0
Fonte: Comtrade/ONU.
Elaborao do autor.
Nota: Classicao extrada de OCDE (2003).
O aumento do contedo tecnolgico das exportaes chinesas para os Estados
Unidos evidenciado tambm pela evoluo da participao total e da posio dos
dez principais produtos exportados pela classifcao SITC rev.2 com trs dgitos.
impressionante a mudana no padro de exportaes dos principais produtos en-
tre as dcadas de 1990 e 2000. Em 1990, os dez principais produtos de exportao
representavam 3,4% do total e estavam concentrados em petrleo bruto e leos de
minerais betuminosos (2,5%, 1
a
posio) e calados (0,2%, 2
a
posio). Em 2000,
os dez principais produtos j representavam 8,6% do total, sendo que o produto
petrleo bruto e leos de minerais betuminosos desapareceu da lista e assumem a 1
a
,
43 O Eixo Sino-Americano e as Transformaes do Sistema Mundial
2
a
e 3
a
posies os seguintes produtos: carrinhos de beb, brinquedos, jogos e artigos
esportivos (4,8%), calados (1,9%) e mquinas automticas para processamento de
dados e suas unidades (1,5%) (tabela 7). Esses dados evidenciam uma primeira etapa
da melhora no padro dos dez principais produtos de exportaes chinesas para os
Estados Unidos ao longo da dcada de 1990, pois se reduziu de forma signifcativa
a participao dos produtos bsicos ao mesmo tempo que aumentou a dos produtos
industriais intensivos em trabalho, ainda que de baixa intensidade tecnolgica.
TABELA 7
Evoluo da participao e da posio dos dez principais produtos exportados pela
China para os Estados Unidos 1990-2009
Produtos
2009 2000 1990
% Posio % Posio % Posio
Mquinas automticas para processamento de dados
e suas unidades
13,5 1 1,5 3
Equipamentos de telecomunicaes e suas partes e
acessrios
5,9 2 0,9 4
Mveis e suas partes 4,0 3 0,8 5
Carrinhos de beb, brinquedos, jogos e artigos esportivos 4,0 4 4,8 1 0,1 8
Calados 3,4 5 1,9 2 0,2 2
Receptores de televiso 2,6 6
Gramofones, ditafones e outros gravadores de som 2,5 7 0,5 9 - -
Casaco de malha no elstica e sem borracha 2,4 8 0,1 5
Casacos txteis de crianas, meninas e mulheres,
exceto de malha
2,2 9 0,5 10 0,1 3
Eletrodomsticos 2,2 10 0,6 7
Peas e acessrios para mquinas das posies
Artigos de matrias plsticas 0,7 6
Artigos de vesturio, acessrios de vesturio, no
txteis e chapelaria
0,6 8
Petrleo bruto e leos de minerais betuminosos 2,5 1
Crustceos e moluscos frescos, refrigerados,
congelados, salgados etc.
0,1 4
Casacos txteis de meninos e homens e mulheres,
exceto malha
0,1 6
Artigos de materiais txteis total ou principalmente 0,1 7
Tecidos de algodo no incluindo as tas ou especial 0,0 9
Peas de vesturio txteis, exceto de malha 0,0 10
Fonte: Comtrade/ONU.
Elaborao do autor.
44 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
A dcada de 2000 consolidou esse processo de aumento do grau tecnolgico
das exportaes chinesas para os Estados Unidos, avanando para uma segunda
etapa em que os principais produtos de exportao tornaram-se os industriais in-
tensivos em tecnologia. Em 2009, a lista dos principais produtos foram: mquinas
automticas para processamento de dados e suas unidades (13,5%, 1
a
posio),
equipamentos de telecomunicaes e suas partes e acessrios (5,9%, 2
a
posio).
Os dados identifcam signifcativa concentrao dos dez principais produtos de
exportaes em relao ao total entre 1990 e 2009 (de 3,4% para 42,6%), que
veio acompanhada com o aumento das exportaes de produtos industriais de
alta tecnologia (tabela 7).
Esse impressionante aumento do grau de sofsticao das exportaes chine-
sas para os Estados Unidos, e tambm para o mundo, tem suscitado amplo debate
sobre os principais fatores explicativos desse processo. Os estudos economtricos
sobre o tema ainda no permitem um consenso a respeito das variveis expli-
cativas, enquanto alguns defendem que no houve aumento da sofsticao das
exportaes chinesas (BRANSTETTER; LARDY, 2006), outros defendem essa
ideia, embora divirjam quanto explicao de suas causas. Alguns identifcam a
poltica governamental como principal determinante do sucesso tecnolgico do
pas (WANG WEI apud XU; LU, 2009, RODRIK, 2006), enquanto outros atri-
buem ao investimento direto estrangeiro (IDE) um papel mais signifcativo nesse
processo (XU; LU, 2009).
Rodrik (2006), aps anlise emprica de conjunto de pases, utilizando o
indicador EXPY que mede o nvel de produtividade associado a uma cesta de
exportaes do pas , concluiu que a China uma outlier em termo de sofstica-
o de suas exportaes, pois o pas apresenta grau de sofsticao trs vezes maior
do que os pases com o mesmo nvel de renda per capita. Para esse autor, no fo-
ram as vantagens comparativas chinesas nem a fora de mercado que geraram esse
resultado, mas sim as polticas governamentais chinesas, em especial a industrial,
que tm ajudado a fomentar as capacidades nacionais dos setores industriais.
Em outra perspectiva, Branstetter e Lardy (2006) afrmam que o nvel de
exportaes sofsticadas da China seria fruto da sua escala e da natureza do seu
comrcio de processamento, sendo que esse resultado decorre exclusivamente da
grande importao de parte, peas e componentes de alto valor agregado, sobre-
tudo de outros pases asiticos, e que esse pas no teria atividades produtivas
sofsticadas e seria apenas uma plataforma de exportao.
Para boa parte da literatura que tenta compreender esse fenmeno entre
os quais Rodrik (2006), Xu e Lu (2009), Schott (2008) etc. , uma das variveis
mais signifcativas do desempenho chins o IDE, dado o papel desempenhado
pelas empresas multinacionais nas exportaes do pas (55,35% das exportaes
45 O Eixo Sino-Americano e as Transformaes do Sistema Mundial
chinesas em 2008 foram realizadas por empresas estrangeiras FIEs, segundo
Customs Statistics do Ministrio do Comrcio da China).
Argumenta-se aqui, seguindo a mesma linha de Rodrik (2006), que o prin-
cipal fator explicativo do aumento do contedo tecnolgico das exportaes
chinesas foi a poltica governamental da China que articula mecanismos de pla-
nejamento e de mercado e que vem sendo implementada de forma gradual desde
1978 e ganhou impulso com o Grande Compromisso de 1992. Dahlman (apud
FILIPE et al., 2010) destaca alguns eixos centrais da poltica industrial chinesa,
a saber: i) intenso processo de reformas e privatizao das empresas estatais em
1991, no entanto, ainda persiste alto o nmero de empresas de propriedade do
Estado; ii) crdito subsidiado para as empresas estatais por meio dos bancos p-
blicos que so o ncleo do sistema fnanceiro chins; iii) incentivos fscais volta-
dos aos investimentos estrangeiros de alta tecnologia; iv) barreiras tarifrias mais
baixas aps a entrada da China na OMC em 2001, mas a manuteno de signi-
fcativas barreiras no tarifrias; e v) polticas de estmulos aos IDEs em reas de
alta tecnologia. Investimentos estes que vem sendo atrados tanto pelo mercado
interno chins quanto pelo baixo custo de fabricao que permite a confgurao
de zonas de reexportao; vi) polticas que estimulam a transferncia de tecno-
logia por meio de mecanismo que requer a produo de contedo por empresas
locais; e vii) mltiplos instrumentos que tem como objetivo criar empresas na-
cionais privadas ou pblicas de classe mundial que possam concorrer com as
empresas multinacionais tanto no mercado interno como no externo.
A despeito do avano das exportaes chinesas de alta tecnologia, a China
ainda est realizando o seu catching up tecnolgico e que parte desse avano re-
cente ainda decorrncia das estratgias das frmas estrangeiras instaladas naquele
territrio, dada a confgurao das cadeias de produo global. Apesar disso, exis-
tem evidncias de que as frmas nacionais chinesas esto ganhando cada vez mais
espaos no mercado mundial, especialmente aps a crise (WOOLDRIDGE,
2010). Na verdade, o comrcio apenas a a ponta do iceberg, que se confgura a
partir de uma teia intrincada de ns do processo de produo globalizado em que
a China vem assumindo papel signifcativo e as empresas americanas conseguem
auferir os maiores ganhos na cadeia de valor globalizada da produo de manu-
fatura, dado que so elas as empresas de brand no ciclo produtivo globalizado.
3.2 Os ns da cadeia produtiva manufatureira globalizada: deslocalizao
com e sem IDE
O processo de integrao produtiva em escala mundial, em curso desde o incio
dos anos 1980 um dos elementos caractersticos da era da globalizao , fruto
da confgurao de novas formas de gesto do trabalho, de padres de automao
informatizada base microeletrnica e da teleinformtica, e de organizao da in-
46 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
dstria, tais como a empresa-rede e mais recentemente a cadeia de produo global
etc. Chesnais (1996, p. 104) identifcou, na dcada de 1990, a existncia de
(...) uma extenso considervel da gama de meios que permitem grande empresa
reduzir seu recurso integrao direta e evitar ter de ampliar continuamente o seu
mercado interno (mesmo que mais bem dominado, graas telemtica).
Processo este que se aprofundou ainda mais na dcada de 2000 e que para
Sturgeon (2002) e Whittaker et al. (2010) deve ser denominado de cadeia de
produo global ou cadeia de valor global , o qual se ampliou de forma acelerada
para os espaos dos pases em desenvolvimento, especialmente na sia (Coreia do
Sul, Tawian, Hong Kong e China continental).
Para diversos autores Chesnais (1996), Pinto e Balanco (2009), Busato e
Pinto (2005), Martinelli e Schoenberger (1994), Hiratuka e Sarti (2010), Veltz
(1994), Sturgeon (2002), Whittaker et al. (2010) , esses elementos possibilita-
ram s grandes multinacionais maior controle e expanso de seus ativos em escala
internacional, ao mesmo tempo que serviram para reforar a ampliao das ope-
raes dessas frmas no mbito mundial de duas maneiras, a saber:
1. Por meio da ampliao crescente das fliais de empresas multinacionais
nas estruturas de produo, confgurando assim novas unidades descen-
tralizadas territorialmente, tendo os IDEs como principal instrumento
de integrao horizontal e verticalmente desse processo. Segundo Hira-
tuka e Sarti (2010, p. 259), nas ltimas trs dcadas, os fuxos de IDE
cresceram a taxas superiores s do comrcio internacional que, por sua
vez, cresceram a taxas superiores s do produto global (...). Isso, na
verdade, refete o (...) intenso processo de internacionalizao, desloca-
mento e/ou descentralizao do processo produtivo global (...).
2. Por intermdio do processo de terceirizao da atividade produtiva, conf-
gurando novas formas de organizao industrial produo em rede em
que ocorrem a deslocalizao e a desverticalizao do processo manufatu-
reiro de partes dos componentes, os quais antes eram produzidos na fbri-
ca central do grupo, para empresas juridicamente independentes tanto
grandes como pequenas e em outros espaos nacionais. Neste sentido, a
grande companhia especialmente a que possui o brand estabelece con-
trole signifcativo sobre o processo produtivo de outras empresas, sem que
para isso tenha de absorv-la. Isso signifca deslocalizao/desverticalizao
sem que necessariamente ocorra IDE.
Nesse contexto de globalizao produtiva em escala mundial, a integrao
produtiva entre Estados Unidos e China, que tem se intensifcado de forma
acelerada recentemente, apresenta trs circuitos. O primeiro deles, de mais fcil
47 O Eixo Sino-Americano e as Transformaes do Sistema Mundial
identifcao, associado entrada de IDE americano no territrio chins que
destinado tanto para as exportaes de produtos para os Estados Unidos como
para a produo voltada ao mercado interno chins em forte expanso.
O segundo circuito se d por meio de um processo imbricado das cadeias pro-
dutivas industriais globalizadas (produo em rede) de difcil observao, pois parte
do processo de coordenao dessa rede no envolve IDE e se d diretamente por
meio do comrcio entre frmas da cadeia de valor que articula ao mesmo tempo as
grandes empresas americanas detentoras de grandes marcas mundiais, notadamente a
indstria de eletrnica que geralmente captura o maior valor agregado das cadeias
produtivas globalizadas e as grandes empresas de pases ou regies asiticos, espe-
cialmente Japo, Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul, que fornecem suprimento
de mquinas, equipamentos, peas e componentes para indstria chinesa, que por
sua vez os transforma reexportando produtos acabados para o mundo, sobretudo os
Estados Unidos. Neste circuito apenas parte da cadeia de valor aparece claramente em
termos dos dados agregados, que a ligao entre estes pases asiticos e a China, j
que o capital e a tecnologia fuem dos primeiros, na forma de IDE, para os ltimos.
Cabe destacar que as modifcaes dos processos produtivos codifcao, modula-
rizao etc. , especialmente da indstria de eletrnica, possibilitou o deslocamento
para a China de atividades de montagem de processos produtivos desse segmento
(ACIOLY, 2006, 2009; STURGEON, 2002; MEDEIROS, 2010).
O terceiro circuito da integrao produtiva entre Estados Unidos e China
vem ocorrendo na cadeia liderada pelos consumidores da indstria leve de con-
sumo vesturio, material esportivo, brinquedos e miscelnea. Esse circuito
liderado pelas cadeias varejistas americanas e envolve maior participao das fr-
mas chinesas, o que, por sua vez, tem como resultado um menor contedo de
investimento externo (MEDEIROS, 2011).
A articulao desses trs circuitos de produo tem transformado a China
no centro global de montagem e produo de manufatura. Em outras palavras, o
pas hoje a nova ofcina do mundo.
Antes de se analisar a integrao produtiva entre os Estados Unidos e a
China do primeiro circuito movimento das fliais das empresas multinacionais
americanas para a China por meio do investimento direto estrangeiro , faz-se
necessrio alertar que no existe consistncia nos dados sobre IDE na China, pois
a depender da fonte lado americano ou chins os valores, e at mesmo a ten-
dncia, modifcam-se. Para a anlise dos IDEs americanos da China utilizou-se
a fonte americana Bureau de Anlise Econmica/ Departamento de Comrcio
dos Estados Unidos.
48 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
vem atraindo um representativo volume de investimentos estrangeiros. Cada vez
mais, notadamente na dcada de 2000, as frmas multinacionais vm ganhando
importncia para a estrutura econmica na China como j observado.
A evoluo dos fuxos e estoques do IDE na China e em Hong Kong (China)
ao longo da dcada de 2000, segundo a base de dados da Comisso das Naes sobre
Comrcio e Desenvolvimento (United Nations Conference on Trade and Development
Unctad) (grfco 4), evidencia elevado crescimento nos fuxos e consequentemente
nos estoques. Entre 2001 e 2009, o fuxo de IDE para a China e Kong Kong
cresceram 103% (de US$ 47 bilhes para US$ 95 bilhes) e 104% (de US$ 24
bilhes para US$ 48 bilhes), respectivamente. Isso gerou o aumento do estoque
de IDE na China, que saltou de US$ 203 bilhes em 2001 para US$ 473 bilhes
em 2009, e em Hong Kong, que se elevou de US$ 419 bilhes em 2001 para US$
912 bilhes em 2009. Esses dados mostram o signifcativo crescimento dos IDEs na
China e em regies provncias que esto articuladas ao desenvolvimento chins.
GRFICO 4
Evoluo dos uxos e estoques dos IDEs na China continental e em Hong Kong
2001-2009
(Em US$ bilhes)
203
217
228
245 272
293
327
378
473
419
336
381
453
523
742
912
816
1178
47
53
54
61
72 73
84
95
34
45
54
60
48
108
24
10
14
34
0
20
40
60
80
100
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
20
220
420
620
820
1020
1220
1420
Estoque China Estoque Hong Kong Fluxo China Fluxo Hong Kong
Fonte: Handbook of Statistics/Unctad.
Elaborao do autor.
O fuxo de IDE americano para China cresceu signifcativamente ao longo
da dcada de 2000. No incio da dcada, esses fuxos giravam em torno de US$ 1
bilho, mas a partir de 2004 eles assumiram novo patamar, alcanando a cifra de
US$ 15 bilhes em 2008. Em 2009, em virtude da crise, os fuxos mudaram de
sentido (-US$ 7 bilhes), mas j em 2010 os IDEs americanos retornaram para
China (US$ 4,5 bilhes). Essa dinmica do fuxo de IDE provocou signifcativa
49 O Eixo Sino-Americano e as Transformaes do Sistema Mundial
elevao de 309% do estoque de investimento estrangeiro dos Estados Unidos
na China (de US$ 12,1 bilhes em 2001 para US$ 49,4 bilhes) (tabelas 8 e 9).
TABELA 8
Fluxos de IDE americano 2001-2010
(Em US$ bilhes sem ajuste sazonal)
China (a) Hong Kong (b) Taiwan (c)
Grande China
(a + b + c)
Japo Coreia
2001 1,9 4,8 1,0 7,7 -4,7 1,2
2002 0,9 1,2 1,4 3,5 8,7 1,7
2003 1,3 -0,7 0,9 1,4 0,9 1,2
2004 4,5 1,6 0,8 6,8 12,8 4,3
2005 2,0 4,7 0,2 6,8 5,9 1,7
2006 4,2 4,2 2,2 10,6 2,7 2,5
2007 5,2 11,5 1,1 17,8 15,7 0,8
2008 15,8 -0,3 4,1 19,7 -1,2 2,1
2009 -7,0 6,4 0,4 -0,2 6,1 3,4
2010 4,5 1,2 0,6 6,3 4,4 1,9
Fonte: Bureau de Anlise Econmica/Departamento de Comrcio dos Estados Unidos.
Elaborao do autor.
Essa tendncia de crescimento dos fuxos de IDE dos Estados Unidos para a Chi-
na, e o consequente aumento dos estoques de IDE dos Estados Unidos, tambm foi
observada para outros pases (Japo e Coreia do Sul) e regies (Hong Kong e Taiwan)
da sia. Entre 2001 e 2009, os estoques de IDE dos Estados Unidos cresceram 55%
em Hong Kong que j possua um nvel de estoque elevado , 110% em Taiwan,
122% na Grande China (China + Hong Kong + Taiwan), 86% no Japo que j
possua nvel de estoque elevado e 170% na Coreia do Sul (tabela 9).
TABELA 9
Estoque de IDE americano 2001-2009
(Em US$ bilhes baseados no custo histrico)
China (a) Hong Kong (b) Taiwan (c)
Grande
China
(a + b + c)
Japo Coreia
2001 12,1 32,5 9,3 53,9 55,7 10,0
2005 19,0 36,4 14,4 69,8 81,2 19,8
2008 52,5 40,0 18,1 110,6 101,9 22,4
2009 49,4 50,5 19,5 119,4 103,6 27,0
Fonte: Bureau de Anlise Econmica/Departamento de Comrcio dos Estados Unidos.
Elaborao do autor.
50 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
Os dados dos estoques de IDE dos Estados Unidos na China evidenciam
crescimento em todos os setores entre 2000 e 2009. Essa dinmica de crescimen-
to foi interrompida, em alguns setores, em 2009 em virtude da crise. Em 2009
verifcou-se signifcativo aumento na participao do estoque de IDE no segmento
fnanceiro bancrio (22%), ao passo que ocorreu a reduo na participao na
manufatura total (de 62% em 2007 para 46% em 2009), a despeito do seu cresci-
mento em termos absolutos (de 22,2% entre 2007 e 2009) (tabela 10).
TABELA 10
Estoque de IDE americano na China por setor produtivo 2000-2009
(Em US$ bilhes baseados no custo histrico)
2000 2005 2006 2007 2008 2009
Todos os setores 11,1 19,0 26,5 29,7 52,5 49,4
Minerao 1,4 2,0 2,0 1,8 3,0 3,6
Manufatura total 7,1 9,3 14,8 18,5 22,6 22,6
Qumicos 1,1 2,3 3,3 4,4 5,3 5,0
Mquinas 0,2 0,4 0,8 1,3 1,4 1,2
Computadores e produtos eletrnicos 3,5 1,7 5,3 7,0 6,4 5,7
Equipamento de transporte 0,7 1,5 1,7 1,7 2,0 2,7
Comrcio no atacado 0,4 2,1 3,3 2,0 2,8 2,9
Instituies depositrias 0,1 0,8 1,1 0,9 nd 10,9
Finanas exceto instituies depositrias
e seguro
0,0 1,5 1,7 1,8 1,9 1,8
Empresas Holding no bancrias nd 1,2 1,2 1,6 3,1 3,9
Outros 3,6 4,1 4,4 4,9 22,2 7,3
Fonte: Bureau de Anlise Econmica/Departamento de Comrcio dos Estados Unidos.
Elaborao do autor.
Obs: nd = no disponvel
Apesar do crescimento do estoque do IDE dos Estados Unidos na China
ou na Grande China expressivo, verifca-se que este representa uma parcela
relativamente pequena do volume total americano (1,4% para a China e 3,4%
para a Grande China em 2009). Contudo, esses dados no signifcam baixa
integrao produtiva entre Estados Unidos e China ou Grande China , pois
hoje as interconexes produtivas no necessariamente envolvem o IDE. Segundo
Sturgeon (2002) e Whittaker et al. (2010), o processo de globalizao produtiva
tem criado uma nova forma de organizao industrial por meio da terceirizao
do processo produtivo deslocalizao e desverticalizao para empresas
juridicamente independentes.
51 O Eixo Sino-Americano e as Transformaes do Sistema Mundial
Sturgeon (2002) e Whittaker et al. (2010), aps analisar vrios casos da indstria
americana IBM, Nortel, Apple Computer, 3Com, Hewlett Packard, etc. , afrmaram
que essa nova forma de organizao industrial tem sido adotada pelas grandes empresas
de brand dos Estados Unidos, especialmente as de eletrnica. Essas empresas vm tercei-
rizando o seu processo de produo fabricao de peas e componentes e montagem
fnal , ao mesmo tempo que estabelecem controle/coordenao signifcativa sobre o
processo produtivo globalizado, o que, por sua vez, lhes garante maior valor agregado
das cadeias produtivas globalizadas.
A dinmica da cadeia de valor global, bem como quanto e onde cada em-
presa captura esse valor, foi muito bem detalhada por Linden, Kraemer e Dedrick
(2007) ao estudar a captura de valor no sistema de inovao global para o iPod
desenvolvido pela empresa Apple. Aps construir procedimentos para medir e ma-
pear o valor criado ao longo da cadeia de produo global, os autores supracitados
obtiveram resultados que corroboram a ideia de que a empresa americana de brand
(Apple) a que consegue capturar o maior valor da cadeia, ao passo que as em-
presas japonesas e coreanas conseguem capturar parcela signifcativa do valor. J
as empresas chinesas que participam da cadeia de valor basicamente montagem
fnal conseguem obter um valor muito pequeno da cadeia global do produto.
Linden, Kraemer e Dedrick (2007, p. 10), ao concluir o estudo, afrmam:
O que podemos dizer sobre quem captura o valor da inovao, com base nesta
anlise inicial? Primeiro, o maior ganhador a Apple, uma empresa americana, com
empregados e acionistas predominantemente americanos que colhem os maiores
benefcios. Se o iPod tivesse sido feita pelo Sony ou Samsung, o valor capturado
pelo Estados Unidos seria consideravelmente menor.
Em segundo lugar, os produtores de componentes crticos de alto valor capturam
uma boa parte dos benefcios. Para o 30GB Video iPod, esses componentes crticos
so o disco rgido e a tela, ambos fornecidos por empresas japonesas. Alm dos dois
microchips mais valiosos que so fornecidos por empresas americanas.
Em terceiro lugar, as estatsticas comerciais podem enganar mais do que informar.
Para cada iPod vendido por US$ 300 nos Estados Unidos, o dfcit comercial deste pas
com a China aumenta em cerca de US$ 150 (a custo de fatores). No entanto, o valor
adicionado ao produto na linha de montagem chinesa no passa de poucos dlares.
22
Isso signifca que as grandes empresas americanas de marcas mundiais
permanecem no topo do processo produtivo da globalizao produtiva, dada
22. So what can we say about who captures the value of innovation, based on this initial analysis? First, the biggest
winner is Apple, an American company, with predominantly American employees and stockholders who reap the benets.
Second, the producers of high value, critical components capture a large share of the value. For the 30GB Video iPod,
the highest value components are the hard drive and the display, both supplied by Japanese companies. U.S. suppliers
provide the two most valuable microchips.
Third, trade statistics can mislead as much as inform. For every $300 iPod sold in the U.S., the politically volatile U.S.
trade decit with China increased by about $150 (the factory cost). Yet, the value added to the product through as-
sembly in China is probably a few dollars at most.
52 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
sua maior capacidade de captura do valor da cadeia globalizada. Portanto, parte
dos dfcits comerciais entre Estados Unidos e China esconde a gerao de va-
lor para as empresas americanas, que eleva substancialmente a sua lucratividade.
O problema que o processo de relocalizao e desverticalizao da frma america-
na tem gerado deslocamento dos empregos industriais para a sia, especialmente
a China, onde ocorre o processo de montagem de boa parte das cadeias globali-
zadas nas ZEEs. Enquanto a economia americana crescia, entre 2002 e 2007,
esse problema fcava submerso, pois o crescimento interno garantia novos postos
de trabalho na rea de servios etc. No entanto, com a crise hipotecria de 2008, o
problema veio tona, j que foram eliminados de mais de 7 milhes de postos de
trabalho (tabela 18), gerando crise permanente de emprego nos Estados Unidos.
Pelo lado da China, o tipo de participao de suas empresas na cadeia glo-
bal no signifca que elas sejam apenas maquiladoras, ao estilo mexicano, como
afrmado por Branstetter e Lardy (2006). A diferena, segundo Medeiros (2010),
que, em paralelo s atividades de processamento de exportaes realizadas nas
zonas especiais, ocorreu grande esforo do governo chins em desenvolver capaci-
dades tecnolgicas,
23
que geraram impactos signifcativos tanto sobre as exporta-
es no processadas como sobre a substituio de importaes.
Na verdade, embora as empresas chinesas ainda participem das cadeias glo-
bais em posies inferiores capturam baixo valor agregado , o governo chins
tem utilizado instrumentos de fnanciamento e de poltica industrial com o ob-
jetivo de fortalec-las, para que estas frmas tais como a Lenovo (computado-
res), a Huawei (equipamentos de telecomunicaes), a Haier (eletrodomsticos
e eletroeletrnicos) e a Chery Automobile (automveis) se tornem players no
mercado mundial e, consequentemente, subam na hierarquia da cadeia de valor
global. Certamente esse caminho pode ser muito longo, mas h evidncias de
que as estratgias adotadas pelo governo chins tm conseguido gerar processo de
catching up, que ainda est em suas fases iniciais.
Essa dinmica de catching up, inclusive, tem se refetido no crescimento con-
sistente dos salrios.
24
Para Keidel (apud NOGUEIRA, 2011), os salrios chineses
23. Segundo Medeiros (2010, p. 19), o governo chins criou, sob a coordenao do Ministrio de Cincia e Tecnologia, 53
zonas de desenvolvimento em atividades de alta tecnologia. Estas receberam grandes uxos de investimento procedentes
das grandes rmas multinacionais e destinaram-se principalmente ao mercado interno. Ao lado das denies gerais esta-
belecendo prioridades para a evoluo tecnolgica industrial atravs de estmulos indiretos (scais e creditcios), a poltica
tecnolgica chinesa se d diretamente a partir da sua inuncia sobre os investimentos das grandes empresas estatais.
24. A expanso do emprego vem ocorrendo acompanhada da elevao dos salrios, (...) desde meados dos anos 1980 os
salrios urbanos multiplicaram-se por 22 vezes, fazendo com que, a partir de 1986, sua taxa de crescimento quase sempre
estivesse acima dos 10%. Em termos absolutos, entre 1986 e 2008, o salrio mdio nominal medido em iuane cresceu de
$ 111,00 para $ 2.436,00, com destaque para o perodo de 1998 a 2007, quando aconteceu cerca de 80% de todo
este crescimento. Em termos reais, o aumento do salrio tambm foi muito signicativo, ainda que inferior ao vericado em
termos nominais devido, principalmente, elevao da inao no nal dos anos 1980 , j que se ampliou em torno de
seis vezes no mesmo perodo, saindo de $ 111,00 para $ 591,00, a preos constantes de 1986. (LEO, 2010a, p. 51).
53 O Eixo Sino-Americano e as Transformaes do Sistema Mundial
esto acompanhando a mesma trajetria dos pases desenvolvidos do Leste Asiti-
co em suas fases de catching up, sendo assim, de se esperar que este crescimento
continue nos prximos anos. preciso destacar que, mesmo com elevao dos
salrios,
25
as empresas que operam na China continuaram obtendo expressivos
lucros, pois os aumentos salariais tm sido compensados pelo incremento da pro-
dutividade geral em diversos ramos produtivos.
Entre 2003 e 2006, a produtividade cresceu 20,2% ao ano (a.a.) no conjun-
to de setores de minerao, manufatura e servios de utilidade, 23,2% a.a. no se-
tor de mquinas e equipamentos e 21,1% a.a. no setor de txteis. Isso gerou que-
da na razo entre o custo do trabalho e a produo bruta (NOGUEIRA, 2011).
Nesse sentido, as transformaes que levaram a China a ocupar a posio
de fbrica do mundo so fruto de amplo conjunto de fatores internos (poltica
industrial, reformas, fnanciamento, poltica monetria, fscal e cambial etc.) e ex-
ternos (aproximao com os Estados Unidos, estratgias operacionais das grandes
frmas estrangeiras etc.).
3.3 As conexes nanceiras: reservas internacionais chinesas e ttulos do
Tesouro dos Estados Unidos
A incluso da China ao mercado de bens e de capitais dos Estados Unidos
signifcou, no plano fnanceiro, a maior e mais rpida expanso do territrio
econmico supranacional americano, pois potencializou signifcativamente o
poder do dlar e dos ttulos da dvida pblica do governo americano, o que, por
sua vez, elevou a capacidade de multiplicao do capital fnanceiro dos Estados
Unidos. Nesse contexto, a China , ao mesmo tempo, devedora dos Estados
Unidos devido aos altos IDEs americanos no territrio chins e credora do
Estado americano em virtude do enorme acmulo de reservas soberanas na
forma de ttulos do Tesouro (FIORI, 2008; TAVARES; BELUZZO, 2004).
As reservas estrangeiras exclusive ouro da China vm crescendo de forma
acelerada ao longo da dcada de 2000 (de US$ 168,3 bilhes em 2000 para US$
2,416 trilhes em 2009) (tabela 11). O governo chins no divulga a composio
de suas reservas, no entanto, existem estimativas que avaliam que entre 70% e
75% delas so mantidas em ativos denominados em dlares, sendo o restante
composto por ativos denominados em ienes e euros (LEO, 2009; PRASAD;
SORKIN, 2009; PRASAD; GU, 2009).
25. Para uma discusso detalhada sobre o mercado de trabalho na China ver Nogueira (2011).
54 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
TABELA 11
Balano de pagamentos e reservas internacionais China, 2000-2009
(Em US$ bilhes)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Reservas internacionais 168,3 215,6 291,1 408,2 614,5 821,5 1.068,5 1.530,3 1.949,3 2.416,0
Em proporo do PIB 14,1 16,4 20,0 24,7 31,6 36,0 38,3 43,8 43,0 47,8
Mudana na posio da reserva (B.P.) 10,7 47,4 75,2 137,5 189,8 251,0 284,7 460,7 479,6 400,5
1. Transaes Corrente 20,5 17,4 35,4 45,9 68,7 160,8 253,3 371,8 436,1 297,1
Em proporo do PIB 1,7 1,3 2,4 2,8 3,5 7,0 9,1 10,6 9,6 5,9
Balana Comercial 34,5 34,0 44,2 44,7 59,0 134,2 217,7 315,4 360,7 249,5
Em proporo do PIB 2,9 2,6 3,0 2,7 3,0 5,9 7,8 9,0 8,0 4,9
2. Conta Capital e Financeira 1,9 34,8 32,3 52,7 110,7 63,0 6,7 73,5 19,0 146,7
Resultado IED 37,5 37,4 46,8 47,2 53,1 67,8 56,9 121,4 94,3 34,3
3. Erros e omisses -11,7 -4,7 7,5 38,9 10,5 27,2 24,7 15,3 24,5 -43,3
PIB nominal
1
1.193 1.317 1.456 1.651 1.943 2.284 2.787 3.494 4.532 5.051
Fonte: International Financial Statistics (IFS)/FMI.
Elaborao do autor.
Nota: Convertido pela taxa de cmbio iuane/dlar na mdia do perodo.
Obs.: BP = balano de pagamento.
Os dados da decomposio da mudana na posio das reservas da China
(tabela 12) acumuladas entre 2000 e 2009 (de US$ 2,337 trilhes) evidenciam
que o saldo em transaes correntes contribuiu com 73% do acumulado das re-
servas no perodo, sendo que a balana comercial foi o item que mais contribuiu
nesta conta (cerca de 63,9%), ao passo que a conta capital e fnanceira contri-
buiu com 23,2% das reservas acumuladas. Como o ingresso lquido de IED foi
superior ao resultado da conta capital e fnanceira, ocorreu uma sada lquida de
capitais de outros tipos da China.
TABELA 12
Decomposio da mudana na posio das reservas valor acumulado para os per-
odos selecionados China, 2000-2009
(Em US$ bilhes)
2000-2009 2000-2004 2005-2009
Mudana na posio da reserva (B.P.) 2.337,0 460,7 1.876,3
1. Transaes correntes 1.707,0 187,9 1.519,2
Participao do total acumulado (%) 73,0 40,8 81,0
Balana comercial 1.493,8 216,3 1.277,5
Participao do total acumulado (%) 63,9 47,0 68,1
(Continua)
55 O Eixo Sino-Americano e as Transformaes do Sistema Mundial
2000-2009 2000-2004 2005-2009
2. Conta capital e nanceira 541,2 232,4 308,8
Participao do total acumulado (%) 23,2 50,4 16,5
Resultado IDE 596,8 222,0 374,8
Participao do total acumulado (%) 25,5 48,2 20,0
3. Erros e omisses 88,8 40,4 48,4
Participao do total acumulado (%) 3,8 8,8 2,6
Fonte: IFS/FMI.
Elaborao do autor.
Obs.: BP = balano de pagamento.
preciso ressaltar que existe signifcativa diferena da decomposio das
reservas acumuladas ao longo desse perodo, a saber: i) entre 2000 e 2004, as
transaes correntes contriburam com 40,8% das reservas acumuladas (de
US$ 460,7 bilhes), sendo que a contribuio da balana comercial (47,%)
foi maior do que a das transaes correntes, o que evidencia que os outros
componentes das transaes correntes foram defcitrios. Pelo lado da conta
capital e fnanceira, verifcou-se a contribuio de 50,4% do acmulo de re-
servas, sendo que o ingresso lquido de IDE contribuiu com 48,2%; ii) entre
2005 e 2009, o saldo nas transaes correntes contriburam com 81% das
reservas (de US$ 1,519 trilho). Desta conta, o componente que mais gerou
reservas foi a balana comercial (68,1%). Quanto conta capital e fnancei-
ra observou-se que ela proporcionou 16,5% das reservas que foi inferior ao
resultado lquido do IED (20%), evidenciando, por sua vez, a ocorrncia de
uma sada de outros tipos de capitais (tabela 12).
Esse enorme aumento das reservas internacionais chinesas esteve associado
ao acmulo de ttulos do Tesouro americano pela China. Entre dezembro de 2001
e dezembro de 2010, verifcou-se crescimento de 1.375% (de US$ 78,6 bilhes
para US$ 1,160 trilho) no estoque de ttulos do Tesouro dos Estados Unidos em
poder dos chineses. Essa evoluo gerou signifcativa elevao da participao do
total de ttulos americanos em poder do governo chins (de 7,6% para 26,1%)
(grfco 5). Inclusive, a partir de setembro de 2008 a China passou a ser o pas
com o maior estoque de ttulos do Tesouro dos Estados Unidos, ultrapassando o
Japo. Vale ressaltar que, aps a crise internacional de 2008, a China manteve o
ritmo das compras dos ttulos do Tesouro dos Estados Unidos.
(Continuao)
56 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
GRFICO 5
Evoluo da posse e participao chinesa na propriedade de ttulos do Tesouro dos
Estados Unidos
118,4
159,0
222,9
310,0
396,9
727,4
894,8
1160,1
477,6
78,6
7,6
9,6
10,4
12,1
15,2
18,9
20,3
23,6
24,3
26,1
50
150
250
350
450
550
650
750
850
950
1050
1150
D
e
z
.
/
2
0
0
1
D
e
z
.
/
2
0
0
2
D
e
z
.
/
2
0
0
3
D
e
z
.
/
2
0
0
4
D
e
z
.
/
2
0
0
5
D
e
z
.
/
2
0
0
6
D
e
z
.
/
2
0
0
7
D
e
z
.
/
2
0
0
8
D
e
z
.
/
2
0
0
9
D
e
z
.
/
2
0
1
0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
P
r
o
p
o
r
o
d
o
s
T
t
u
l
o
s
E
s
t
a
d
o
s
U
n
i
d
o
s
e
m
m
o
s
d
o
s
c
h
i
n
e
s
e
s
(
%
)
China China total (%)
T
t
u
l
o
s
d
o
T
e
s
o
u
r
o
d
o
s
E
s
t
a
d
o
s
U
n
i
d
o
s
(
U
S
$
b
i
l
h
e
s
)
Fonte: Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.
Elaborao do autor.
Alm dos ttulos do Tesouro, a China elevou o seu estoque de ttulos pri-
vados americanos entre maro de 2000 e maro de 2009, que passou de US$ 19
bilhes para US$ 424 bilhes. At meados de 2008, a China vinha tambm acu-
mulando de forma signifcativa ttulos Government Sponsored Enterprises (GSE),
tais como os de frmas do setor imobilirio Fannie Mae, Freddie Mac (PRA-
SAD; SORKIN, 2009).
Esse acmulo chins de reservas soberanas na forma de ttulos do Tesouro
americano, entre outras estratgias, signifca interveno direta do Banco Central
da China (Banco Popular da China BCP) no mercado cambial que enseja re-
duzir a entrada de capital dados os elevados supervits nas transaes correntes
e na conta capital e fnanceira (tabelas 8 e 9) , mantendo assim a estabilidade
nominal de sua moeda iuane em relao ao dlar, preservando, por sua vez, a
competitividade das exportaes chinesas. A articulao entre a poltica cambial
chinesa e os ttulos do Tesouro americano refora os elos da conexo entre a eco-
nomia chinesa e a americana.
57 O Eixo Sino-Americano e as Transformaes do Sistema Mundial
4 A DINMICA DA MACROECONOMIA MUNDIAL: O PAPEL DESEMPENHADO
PELO EIXO SINO-AMERICANO NA PRIMEIRA DCADA DO SCULO XXI
A primeira dcada do sculo XXI foi marcada por dois momentos econmicos
distintos: i) o extraordinrio crescimento mundial entre 2002 e 2008 (tabela 1);
e ii) a crise da economia mundial em 2008. Estes dois momentos histricos vm
gerando modifcaes estruturais no sistema econmico e poltico internacional
que so fruto da confgurao de uma nova diviso internacional do trabalho:
globalizao fnanceira e produtiva; e cadeias de produo global.
O perodo de extraordinrio crescimento foi gerado pela confgurao
de novos fuxos comerciais, produtivos e fnanceiros que conectaram, por
um lado, os Estados Unidos e, por outro, as economias do Sudoeste Asitico,
especialmente a China. A dinmica da acumulao capitalista passou a ser
liderada pelo eixo sino-americano, e no mais pela trade Estados Unidos,
Alemanha e Japo (FIORI, 2010; PINTO, 2010a, 2010b; CARCANHOLO;
FILGUEIRAS; PINTO, 2009).
Os dados da tabela 13 evidenciam a impressionante evoluo da participa-
o da China do PIB global em dlares correntes (de 1,9% em 1980 para 9,3%
em 2010, tornando-se a segunda maior participao fruto do denominado mi-
lagre chins) e pequena perda na participao dos Estados Unidos (de 26,1%
em 1980 para 23,6% em 2010). Estas duas economias juntas detiveram 32,9%
do PIB global em 2010. A despeito do to propalado avano das economias em
desenvolvimento, verifca-se que, ao se retirar desse grupo a China, o aumento da
participao desses pases foi pequeno (de 21,7% em 1980 para 24,2% em 2010),
sendo que parte dessa dinmica foi fruto de diversos mecanismos de transmisso
gerados pela dinmica chinesa.
TABELA 13
Participao no PIB global 1980-2010
(Em %)
Regio/pas 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010
Pases desenvolvidos 76,4 78,9 79,7 81,7 79,9 76,2 65,2 68,9 68,9 66,5
Alemanha 7,7 5,4 7,0 8,5 5,9 6,1 5,4 6,0 5,8 5,3
Estados Unidos 26,1 35,4 26,2 25,0 31,0 27,8 23,0 23,5 24,4 23,6
Japo 9,9 11,3 13,7 17,7 14,5 10,0 7,2 8,0 8,8 8,7
Unio Europeia 34,2 25,6 31,8 30,9 26,5 30,3 27,8 30,0 28,4 26,0
Pases em desenvolvimento 23,6 21,1 20,3 18,3 20,1 23,8 25,7 31,1 31,1 33,5
frica subsaariana 2,5 1,6 1,3 1,1 1,0 1,4 1,3 1,5 1,5 1,7
Amrica Latina e Caribe 7,9 6,5 5,3 6,1 6,5 5,8 6,0 7,0 6,9 7,6
(Continua)
58 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
Regio/pas 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010
sia 6,2 7,0 5,1 6,2 7,3 8,9 9,9 12,2 13,6 14,7
China 1,9 2,6 1,8 2,5 3,7 5,0 5,7 7,4 8,6 9,3
Estados Unidos + China 28,0 37,9 28,0 27,4 34,7 32,7 28,7 30,9 33,0 32,9
Pases em desenvolvimento
exceto China
21,7 18,5 18,5 15,8 16,4 18,8 20,0 23,7 22,4 24,2
Fonte: FMI (2010).
Elaborao do autor.
Nota: Estimativa.
Alm do aumento da participao do PIB global, o G-2 China e Estados
Unidos tambm contribuiu de forma signifcativa para o crescimento do PIB
global, ao longo das ltimas trs dcadas. Nas dcadas de 1980 e 1990 respecti-
vamente os perodos de retomada do poder americano e de seu boom econmico ,
os Estados Unidos foram os maiores responsveis pelo crescimento mundial (con-
tribuio de 26,3% entre 1981 e 1990 e de 41,5% entre 1991 e 2000), ao passo
que a China ainda contribuiu pouco para o crescimento, mas mostrou signifcati-
vo salto entre as dcadas de 1980 e 1990 (de 1,6% entre 1981 e 1990 para 8,4%
entre 1991 e 2000). Elevao esta, provavelmente, originria da confgurao do
Grande Compromisso em 1992 que acelerou a estratgia de crescimento econmico
confgurada em 1978 (tabela 14).
A dcada de 2000 assistiu a uma queda signifcativa na contribuio dos Esta-
dos Unidos ao crescimento mundial (de 41,5% entre 1991 e 2000 para 15,7% entre
2001 e 2000) e a uma elevao na contribuio da China (de 8,4% entre 1991 e
2000 para 15,2% entre 2001 e 2010). Ao longo da dcada (2001-2010), cada uma
destas economias contribuiu com participaes muito prximas para o crescimento
mundial. Em 2010, as duas economias juntas devem responder estimativas por
30,7% do crescimento mundial, sendo que a participao da China (18,5%) deve
ser signifcativamente maior do que a dos Estados Unidos (12,3%) (tabela 14).
TABELA 14
Contribuio ao crescimento do PIB global em US$ correntes 1981-2010
(Em %)
Regio/pas 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2002-2007 2008 2009 2010
Pases desenvolvidos 82,8 80,3 52,0 61,3 41,0 -69,0 31,9
Alemanha 6,3 3,6 4,7 6,1 5,7 -9,4 -0,8
Estados Unidos 26,3 41,5 15,7 15,9 5,5 -7,5 12,3
Japo 17,2 16,4 2,4 1,2 9,1 5,4 7,8
Unio Europeia 29,6 14,6 25,5 35,5 25,0 -58,7 -7,5
(Continuao)
(Continua)
59 O Eixo Sino-Americano e as Transformaes do Sistema Mundial
Regio/pas 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2002-2007 2008 2009 2010
Pases em desenvolvimento 17,2 19,7 48,0 38,7 59,0 -31,0 68,1
frica subsaariana 0,2 0,3 2,4 2,2 2,0 -1,4 3,4
Amrica Latina e Caribe 3,0 9,0 8,8 7,0 10,5 -9,0 17,8
sia 4,0 12,1 22,8 15,2 24,7 13,2 30,6
China 1,6 8,1 15,2 9,2 18,4 13,9 18,5
Estados Unidos + China 27,9 49,5 30,9 25,1 23,9 6,4 30,7
Pases em desenvolvimento
exceto China
15,6 11,6 32,7 29,6 40,6 -17,1 49,6
Fonte: FMI (2010).
Elaborao do autor.
Nota: Estimativa.
Esses dados (tabelas 13 e 14) mostram que o eixo sino-americano dita a
dinmica da acumulao capitalista, bem como foi o grande responsvel pelo
ciclo de expanso entre 2002 e 2007 contriburam juntos com 25,1% do cres-
cimento global neste perodo. Na verdade, as polticas monetria
26
e fscal expan-
sionistas
27
dos Estados Unidos, implementadas aps o 11 de Setembro de 2001,
conjugadas com a poltica econmica desenvolvimentista chinesa,
28
permitiram a
manuteno e o posterior aumento das exportaes chinesas para os Estados Uni-
dos, ao mesmo tempo que possibilitaram o aumento das importaes chinesas i)
de mquinas e equipamentos, oriundas da Alemanha e do Japo, ii) de produ-
tos industriais dos demais pases asiticos e iii) de matrias-primas e alimentos
dos pases em desenvolvimento da frica e da Amrica-Latina (PINTO, 2010a,
2010b; SERRANO, 2008).
Essa dinmica gerou, por meio de diversos mecanismos de transmisso, cres-
cimento mundial quase sincronizado entre os pases (tabela 1). Por um lado, os
Estados Unidos funcionaram como consumidor de ltima instncia do mundo
aumentando seu dfcit em transaes correntes: de 0,9% do PIB em 2001 para
26. Vericou-se uma forte reduo das taxas de juros bsica que passou de 3,1% em setembro de 2001, para 1,7%
em janeiro 2002. Essa tendncia j era observada antes mesmo dos ataques s torres gmeas quando a taxa de juros
passou a cair ms a ms desde dezembro de 2000 (6,4%) at alcanar o valor de 3,7% em agosto de 2001 (PINTO,
2010b, p. 90).
27. O governo George W. Bush, aps os atentados, adotou uma poltica scal fortemente expansionista por meio da
reduo dos impostos (de 29,5% em 2001 para 27,4% em 2002 e para 26% em 2003 em proporo do PIB) e ele-
vao dos gastos (de 29,2% em 2001 para 30,4% em 2002 e para 31,3% em 2003 em proporo do PIB), gerando
uma reverso do supervit de 0,3% em 2001, em proporo do PIB, para um dcit pblico de 3% do PIB, em 2002,
e de 5,2% do PIB em 2003 (tabela 16).
28. O governo chins optou por: i) expandir ainda mais o programa de investimentos pblicos em infraestrutura, em
curso desde 1998, depois dos atentados de 11 de Setembro de 2001 nos EUA. Isso se reetiu, por sua vez, no cresci-
mento dos investimentos (FBKF) da ordem de 23,5% (de 34,4% do PIB em 1998, para 42,5% do PIB em 2006); e ii)
manter sua taxa de cmbio xa em relao ao dlar durante e aps a crise da Nasdaq, em 2000, bem como posterior-
mente aos atentados de 11 de Setembro de 2001, quando o dlar passou a se desvalorizar em relao s principais
moedas, inclusive em comparao com algumas moedas de pases asiticos (PINTO, 2010b, p. 91).
(Continuao)
60 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
2,1% do PIB em 2008. Por outro, a China como um dos principais supridores
da demanda americana funcionou com uma correia de transmisso de efeitos
positivos para outras regies do mundo sia, frica, Amrica Latina e at Euro-
pa. Nesse contexto, vrios pases obtiveram supervits comerciais, o que, por sua
vez, permitiu a reduo da vulnerabilidade externa e o acmulo de reservas inter-
nacionais. Possibilitando assim, a confgurao de polticas econmicas voltadas
expanso do produto e do emprego.
O ciclo de expanso mundial foi interrompido pela crise sistmica
internacional.
29
Crise esta que se iniciou em meados de 2007 no mercado imobilirio
americano, mais especifcamente no segmento de hipotecas de alto risco (subprime).
A falncia do Lehman Brothers, em setembro de 2008, desencadeou o carter
sistmico da crise que a partir da se propagou de forma rpida. Todos os pases
foram atingidos pela crise, o que se refetiu na queda mundial do nvel de atividade
econmica, do emprego, da formao bruta de capital fxo (FBKF) e dos fuxos
de comrcio e de IDE.
O aprofundamento da crise, em setembro de 2008, gerou um colapso
do estado de confiana em quase todos os pases. Nesse contexto, os Estados
tiveram de configurar uma ampla variedade de estratgias anticclicas mo-
netrias, fiscais e cambiais , ao estilo keynesiano, para conter tal situao.
Alm das medidas de poltica monetria centrada na reduo das taxas de
juros e no aumento da liquidez base monetria , os Estados passaram a
adotar outras medidas de conteno da crise, que estavam renegadas at en-
to, a saber: i) interveno direta em instituies bancrias e no bancrias,
por meio do aumento da garantia sobre depsitos privados e emprstimos
bancrios, da compra de ativos de valor incerto e da injeo de capital, entre
outras medidas; ii) medidas de estmulos ficais, tais como gastos em infra-
estrutura, apoio ao emprego, transferncias para a populao mais pobre,
reduo de impostos, entre outras medidas; e iii) interveno no mercado de
moeda (PINTO, 2010a, 2010b; KHATIWADA, 2009).
preciso aqui se deter mais especifcamente sobre as medidas de enfrenta-
mento da crise na China e nos Estados Unidos, bem como observar quais foram
os seus resultados macroeconmicos. Isso fundamental para que se possa com-
preender a dinmica da economia mundial aps a crise, bem como os efeitos
desse processo para a dinmica tanto de acumulao de riqueza quanto de poder
no sistema econmico e poltico internacional.
A economia chinesa foi abalada pela crise econmica internacional de
2008, s que em uma dimenso muito menor do que a observada na economia
29. Para uma anlise detalhada das causas, dos mecanismos de transmisso e dos impactos da crise internacional
recente, ver Freitas e Cintra (2008), Kregel (2008) e Fhari (2010).
61 O Eixo Sino-Americano e as Transformaes do Sistema Mundial
americana, epicentro da crise. Para Fang, Yang e Meiyan (2009), o mecanismo
de transmisso da crise sobre a economia chinesa ocorreu de forma indireta, por
meio da queda da demanda externa por produtos chineses as exportaes ca-
ram de US$ 354,4 bilhes no quarto trimestre de 2008 para US$ 245,5 bilhes
no primeiro trimestre de 2009 (tabela 15). Com isso, muitas empresas localiza-
das nas ZEEs que orientavam sua produo para a exportao notadamente
aquelas muito intensivas em mo de obra foram obrigadas a dispensar con-
tingente signifcativo de trabalhadores. Fang, Yang e Meiyan (op. cit.) apontam
ainda que a crise demonstrou quais so os principais problemas do padro de
acumulao da economia chinesa, bem como a necessidade de construo de
estratgias voltadas ao reforo do consumo das famlias para a sustentabilidade
do crescimento de longo prazo, reduzindo a dependncia externa.
O governo chins agiu de forma rpida e agressiva, redirecionando o seu foco
de atuao, que at ento estava voltado conteno da infao que se mantinha
acelerada no primeiro semestre de 2008 8% para o ndice de preo ao consumi-
dor , para a manuteno do crescimento econmico. O Banco Central da China
(Banco do Povo) adotou uma mudana no sinal da poltica monetria em curso por
meio da i) expanso do crdito base monetria M1 em porcentagem do PIB de
57,1% entre o quarto trimestre de 2008 e o primeiro trimestre de 2009 (de 171,3%
para 257%) e ii) da reduo nas taxas de juros (de 4,14 pontos percentuais p.p. no
terceiro trimestre de 2008 para 2,79 p.p. no quarto trimestre de 2008) (tabela 15).
No plano fscal, o esforo de expanso foi ainda maior, haja vista o imenso pacote de
RMB 4 trilhes (US$ 586 bilhes) 54,3% desse valor foram destinados aos inves-
timentos em infraestrutura e as iniciativas de ampliao da proteo social e de po-
lticas trabalhistas que sinalizam o reforo da estratgia de crescimento pautada pelo
avano de seu mercado interno (FANG; YANG; MEIYAN, 2009; KHATIWADA,
2009; ACIOLY; CHERNAVSKY, LEO, 2010; PINTO, 2010a, 2010b).
TABELA 15
Indicadores macroeconmicos trimestrais selecionados China, 1
o
trimestre de
2008-4
o
trimestre de 2010
Perodos
2008
T1
2008
T2
2008
T3
2008
T4
2009
T1
2009
T2
2009
T3
2009 T4
2010
T1
2010
T2
2010
T3
2010
T4
Resevas (menos
ouro) (bilhes US$)
1.684 1.811 1.908 1.949 1.957 2.135 2.288 2.416 2.464 2.471 2.667 nd
Taxa de cmbio
(iuan/US$)
7,2 7,0 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,7
Taxa de juros
1
4,14 4,14 4,14 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 nd
Base Monetria
(M1)/PIB (%)
227,6 208,7 203,5 171,3 257,0 249,9 247,2 204,2 281,0 263,7 nd nd
(Continua)
62 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
Perodos
2008
T1
2008
T2
2008
T3
2008
T4
2009
T1
2009
T2
2009
T3
2009 T4
2010
T1
2010
T2
2010
T3
2010
T4
Exportaes
(bilhes US$)
306 360 408 354 246 276 325 355 316 389 430 nd
Importaes
(bilhes US$)
264 303 325 240 183 241 286 294 302 348 364 nd
Balana Comercial
(bilhes US$)
41 58 83 114 62 35 39 61 14 41 66 nd
ndice de preo ao
consumidor
8,0 7,8 5,3 2,5 -0,6 -1,5 -1,3 0,7 2,2 2,9 3,5 nd
Produo industrial
(nmero ndice)
nd 15,9 13,0 6,4 n.a. 9,0 12,3 17,9 14,6 16,0 13,5 nd
PIB (bilhes iuane) 6.628 7.419 7.655 9.702 6.868 7.730 8.161 10.776 8.162 9.122 nd nd
Fonte: IFS/FMI.
Elaborao do autor.
Nota: Convertida pela taxa de cmbio iuane/dlar na mdia do perodo.
Obs.: nd = no disponvel.
Os incentivos fscais e monetrios adotados pelo governo chins mostraram-
-se efcazes na recuperao econmica, j que depois da abrupta queda do PIB (de
28% no primeiro trimestre de 2009 contra o semestre imediatamente anterior) e
da produo industrial (de 51,2% no quarto trimestre de 2009 contra semestre
o imediatamente anterior), verifcou-se rpida recuperao do PIB e da produo
industrial, pois este cresceu 12,5% no segundo trimestre de 2009 no cotejo
com o trimestre anterior e a produo industrial elevou-se em 39% no terceiro
trimestre de 2009 em relao ao trimestre anterior (tabela 15).
Alm dos incentivos fscais e monetrios, a China reafrmou a sua poltica
cambial de atrelamento de sua moeda ao dlar
30
taxa de cmbio iuane/dlar
permaneceu praticamente estvel no valor de 6,8 entre o primeiro trimestre de
2008 e segundo trimestre de 2010 , que tem como contrapartida o aumento
das reservas cambias (de US$ 1,684 trilho no primeiro trimestre de 2008 para
US$ 2,667 trilhes no terceiro trimestre de 2010). Essa poltica cambial possibi-
litou a recuperao das exportaes chinesas (de US$ 429,8 bilhes no terceiro
trimestre de 2010) para um patamar maior do que aquele observado antes da
crise (tabela 4). Com a desvalorizao do dlar em relao s outras moedas na-
cionais aumento elevado da base monetria dos Estados Unidos (tabela 13) e
a poltica de atrelamento do iuane ao dlar, as exportaes chinesas fcaram mais
competitivas em terceiros mercados Amrica Latina, Europa etc.
30. Com o aprofundamento da crise internacional, a China, em julho de 2008, interrompeu a sua poltica de exi-
bilizao gradual do cmbio adotada em julho de 2005, que se congurou em um sistema de cmbio exvel
administrado em bandas estreitas a partir da variao de uma cesta de moedas, com maior peso do dlar e retornou
ao sistema de paridade xa em relao ao dlar (LEO, 2010b).
(Continuao)
63 O Eixo Sino-Americano e as Transformaes do Sistema Mundial
A despeito desse aumento das exportaes chinesas, os supervits comerciais
reduziram-se em virtude da acelerao das importaes (de US$ 183,1 bilhes
no primeiro trimestre de 2009 para US$ 364,2 bilhes no terceiro trimestre de
2010), fruto das polticas econmicas expansionistas voltadas recuperao da
crise. Essa taxa de crescimento maior das importaes em relao s exportaes
refora a ideia de que o governo chins esteja tentando realizar um ajuste estru-
tural no seu atual padro de crescimento, buscando reforar a demanda interna
(FANG; YANG; MEIYAN, 2009; PINTO, 2010a, 2010b).
Essa poltica cambial, em um contexto de supervit do balano de paga-
mentos, s foi possvel com a ampliao da compra de divisa pelo BPC que gera
a ampliao da base monetria. Para esterilizar o aumento da oferta de iuane, o
BPC vem utilizando instrumentos de operao de mercado aberto venda de
ttulos do Banco Central e de aumento da taxa de compulsrio dos bancos.
O problema que cada vez mais vem se elevando o custo de esterilizao para o
Banco Central e os ajustes frequentes nas taxas de compulsrios dos bancos tem
afetado, em certa medida, a efcincia do sistema fnanceiro (XIAOLIAN, 2010).
Os estmulos fscais, monetrios e cambiais recolocaram a economia chinesa
na rota do crescimento, inclusive, no auge da crise em 2009, a China contribuiu
de forma positiva para o desempenho do PIB global que foi negativo naquele
ano (tabela 14). Os dados de 2010 do PIB da China mostram crescimento de
10,2%. A preocupao atual do governo chins no mais o restabelecimento
econmico, mas sim os efeitos gerados pela forte e rpida recuperao econmi-
ca, sobretudo no que diz respeito aos seus impactos infacionrios alimentos,
matrias-primas e imveis.
Nesse novo contexto, a governo tem se utilizado, de forma pragmtica e gra-
dualista, de instrumentos de poltica econmica, tais como elevaes contnuas
e graduais das taxas de juros bsica desde outubro de 2010 e da taxa de compul-
srio dos bancos o BPC elevou a taxa de compulsrio dos maiores bancos da
China para 19,5%, em janeiro de 2011, sendo que este foi o oitavo aumento con-
secutivo, levando a taxa ao seu maior patamar histrico para conter a acelerao
da infao em 2011 (WALDMEIR; COOKSO, 2011). Entre junho e novembro
de 2010, o preo ao consumidor elevou-se de 3,3% para 5,1%, ao passo que o
preo ao produtor se acelerou desde janeiro de 2010 (4,3%), atingindo o pico de
7,1% em maio, desacelerando nos quatros meses seguintes e voltando a elevar-se
em outubro (5%) e novembro (6,1%) de 2010 (grfco 6).
64 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
GRFICO 6
Evoluo do preo ao consumidor e produtos na China novembro de 2001-novembro
de 2010
(Em %)
4,3
5,4
5,9
6,8 7,1
6,4
4,8
4,3 4,3
5,0
6,1
1,5
2,7
2,4
2,8
3,1
2,9
3,3
3,5
3,6
4,4
5,1
1,7
-2,1
0,6
1,9
-2,5
-1,5
-0,5
0,5
1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
N
o
v
.
/
2
0
0
9
D
e
z
.
/
2
0
0
9
J
a
n
.
/
2
0
1
0
F
e
v
.
/
2
0
1
0
M
a
r
.
/
2
0
1
0
A
b
r
.
/
2
0
1
0
M
a
i
o
/
2
0
1
0
J
u
n
.
/
2
0
1
0
J
u
l
.
/
2
0
1
0
A
g
o
.
/
2
0
1
0
S
e
t
.
/
2
0
1
0
O
u
t
.
/
2
0
1
0
N
o
v
.
/
2
0
1
0
Preo ao produtor Preo ao consumidor
Fonte: IFS/FMI.
Elaborao do autor.
evidente a preocupao do governo chins com os impactos econmicos
e polticos da elevao dos preos ao consumidor, sobretudo para os segmentos
sociais que tm baixos salrios. O repique infacionrio no fm da dcada de 1980
e seus efeitos polticos poca greves, protestos etc. ainda est na memria do
PCC. No entanto, isso no signifca que o governo chins vai abandonar o seu
gradualismo na conduo da poltica macroeconmica, pois o controle infacio-
nrio necessariamente deve vir acompanhado da manuteno do ritmo de desen-
volvimento estvel e relativamente rpido que garante a legitimidade interna
do partido em conformidade com o regime geral do Comit Central do PCC e
do Conselho de Estado. Isso signifca afrmar que a economia difcilmente dever
crescer abaixo dos 7,5% estabelecidos no ltimo plano quinquenal.
No outro polo da relao siamesa, a economia dos Estados Unidos, epicen-
tro da crise hipotecria, foi fortemente abalada. A elevada exposio dos grandes
agentes fnanceiros s hipotecas subprime levou o sistema fnanceiro americano
beira do colapso. Neste sentido, o governo americano teve de realizar interveno
direta em instituies bancrias e no bancrias, que signifcou o aumento da
65 O Eixo Sino-Americano e as Transformaes do Sistema Mundial
garantia sobre depsitos privados e sobre emprstimos bancrios e a compra de
ativos de valores duvidosos. Segundo dados do Gabinete de Gesto e Oramento
americano, as despesas executadas do governo federal aumentaram US$ 531,1
bilhes entre 2008 e 2009, dos quais a funo crdito habitacional e comercial
salvamento do sistema fnanceiro contribuiu com US$ 263,7 bilhes.
Alm da interveno direta no sistema fnanceiro, o governo americano
adotou uma poltica monetria de forte injeo de liquidez na economia com o
objetivo de recuperar o estado de confana dos agentes econmicos nos termos
keynesianos. O Fed reduziu a taxa de juros bsica (de 2,15 p.p. no primeiro tri-
mestre de 2008 para 0,14 p.p. no quarto trimestre de 2010), o que gerou forte
elevao da base monetria (M1) em proporo do PIB (crescimento de 21%
entre o primeiro trimestre de 2008 e o quarto trimestre de 2010) (tabela 17).
No plano fscal, o combate crise se deu pela signifcativa expanso das
despesas (de 30,9% em 2007 para 32,3% em 2008 e para 36,1% em 2009 em
proporo do PIB) e reduo das receitas (de 28,8% em 2007 para 27,8% em
2008 e para 24,8% em 2009 em proporo do PIB), que, por sua vez, geraram a
elevao do dfcit pblico americano (de 2,1% em 2007 para 4,5% em 2008 e
para 11,3% em 2009 em proporo do PIB). Essa evoluo dos fuxos fnancei-
ros do setor pblico provocou o aumento na dvida lquida do setor pblico (de
36,2% em 2007 para 53% em proporo do PIB em 2009) (tabela 16).
TABELA 16
Indicadores de nanas pblicas dos Estados Unidos 2000-2010
(Em % do PIB)
Ano
Receitas Despesas Supervit/dcit (-)
Dvida lquida
federal
Setor pblico
Governo
federal
Setor pblico
Governo
federal
Setor pblico
Governo
federal
2000 30,6 20,6 28,8 18,2 1,8 2,4 34,7
2001 29,5 19,5 29,2 18,2 0,3 1,3 32,5
2002 27,4 17,6 30,4 19,1 -3,0 -1,5 33,6
2003 26,0 16,2 31,3 19,7 -5,2 -3,4 35,6
2004 26,0 16,1 30,9 19,6 -4,8 -3,5 36,8
2005 27,5 17,3 31,0 19,9 -3,5 -2,6 36,9
2006 28,5 18,2 31,1 20,1 -2,6 -1,9 36,5
2007 28,8 18,5 30,9 19,6 -2,1 -1,2 36,2
2008 27,8 17,5 32,3 20,7 -4,5 -3,2 40,2
2009 24,8 14,8 36,1 24,7 -11,3 -9,9 53,0
2010 nd 14,8 nd 25,4 nd -10,6 63,6
Fonte: Gabinete de Gesto e Oramento americano.
Elaborao do autor.
Nota: Acumulado dos trs primeiros trimestres
Obs.: nd = no disponvel.
66 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
Essas polticas de interveno do governo americano conseguiram impedir o
colapso do sistema fnanceiro. No entanto, elas ainda no conseguiram restabelecer
o dinamismo da economia real produto, investimento e emprego , a despeito da
forte injeo de liquidez e da magnitude da poltica fscal expansionista. A evoluo
das principais variveis macroeconmicas evidencia: i) que o PIB e a produo in-
dustrial se recuperaram de forma lenta (de 3,5% e 6,4% entre o primeiro trimestre
de 2009 e o terceiro trimestre de 2010), sendo que no terceiro trimestre de 2010
ainda no tinham alcanado o valores pretritos crise; ii) o no restabelecimento
da dinmica dos investimentos FBKF , pois se verifcou trajetria de queda des-
de o primeiro trimestre de 2008 (20,1% do PIB) que sofreu um lapso ainda maior
no primeiro trimestre de 2009 (17,8% do PIB) at o primeiro trimestre de 2010
(16,6% do PIB), mantendo-se a partir da estabilidade ou pequeno crescimento;
iii) a reduo do dfcit comercial aps o auge da crise (de US$ 250 bilhes no
terceiro trimestre de 2008 para US$ 199 bilhes no terceiro trimestre de 2010);
31
e
iv) a forte elevao do desemprego (taxa de desemprego aberto saltou de 5,3%, no
primeiro trimestre de 2008, para 9,1%, no quarto trimestre de 2010 (tabela 17).
TABELA 17
Indicadores macroeconmicos trimestrais selecionados Estados Unidos, 1
o
trimestre
de 2008-4
o
trimestre de 2010
Perodos
2008
T1
2008
T2
2008
T3
2008
T4
2009
T1
2009
T2
2009
T3
2009
T4
2010
T1
2010
T2
2010
T3
2010
T4
Taxa de juros
1
2,15 1,64 1,66 0,39 0,23 0,18 0,17 0,07 0,10 0,14 0,15 0,14
Base Monetria (M1)/PIB (%) 9,8 9,7 9,9 11,5 11,3 11,8 11,6 12,1 12,0 11,9 11,8 nd
Exportaes (bilhes US$) 318 344 341 299 247 252 265 294 297 315 319 nd
Importaes (bilhes US$) 520 572 590 487 365 373 419 448 440 492 517 nd
Balana comercial (bilhes US$) -203 -228 -250 -188 -118 -122 -154 -154 -143 -177 -199 nd
PIB (mdia de 2005 = 100) 105,5 105,7 104,6 102,8 101,5 101,4 101,8 103,0 104,0 104,4 105,1 nd
Investimento (FBKF) (% PIB) 20,1 20,1 20,0 19,3 17,8 17,3 17,1 16,8 16,6 17,2 17,2 nd
Produo Industrial
(mdia de 2005 = 100)
104,5 103,2 101,4 96,9 92,5 89,7 92,9 93,3 95,2 96,8 98,4 99,0
ndice de preo ao consumidor
(2005 = 100)
108,6 111,0 112,3 109,1 108,6 109,7 110,5 110,7 111,1 111,7 111,8 112,1
Taxa de desemprego 5,3 5,2 6,0 6,6 8,8 9,1 9,6 9,5 10,4 9,5 9,5 9,1
Fonte: IFS/FMI.
Elaborao do autor.
Nota: Taxa de remunerao dos ttulos do Tesouro.
Obs.: nd = no disponvel.
31. Essa reduo foi muito mais fruto da queda das importaes em outras palavras, reexo da estagnao econ-
mica do que do crescimento das exportaes.
67 O Eixo Sino-Americano e as Transformaes do Sistema Mundial
As variveis econmicas americanas, ao longo de 2009 e 2010, mostraram que
a forte injeo de liquidez na economia, por meio dos diversos instrumentos, no se
reverteu em signifcativos aumentos no produto, nos investimentos e nos empregos,
gerando assim, excesso de liquidez. Dado que os Estados Unidos so o emissor da
moeda mundial, este excesso gera dois movimentos: i) a desvalorizao do dlar em
relao s outras moedas exceo ao caso chins que adotou estratgia reativa de
atrelamento de sua moeda ao dlar; e ii) a abundncia de dlares no mercado mun-
dial. Isso signifca aumento de liquidez que se destina busca de aplicaes rentveis
mercados futuros de commodities e aplicaes em mercados de ttulos e aes ,
especialmente nos pases emergentes, pressionando ainda mais a valorizaes das
moedas locais e difcultando a competitividade de suas exportaes.
Os dados mais recentes da economia americana mostram recuperao lenta
do produto e dos investimentos; no entanto, esse movimento de recuperao
gradual ainda no tem gerado efeitos sobre o mercado de trabalho. O grande
dilema do governo Barack Obama a gerao de novos postos de trabalho. Para
Wicks-Lim (2010), Pollin (2010) e Papadimitriu e Hannsgen (2010), os Estados
Unidos vivem uma crise de emprego.
Entre 2007 e 2010, a oferta de trabalho populao economicamente ativa
(PEA) cresceu de 2,6%, ao passo que a demanda empregos encolheu quase
5%, o que provocou a elevao da taxa de desemprego de 4,6% em 2007 para
9,6% em 2010 (tabela 18). Isso representou a eliminao de aproximadamente
7 milhes de postos de trabalho (tabela 18), em um mercado de trabalho j pre-
carizado baixos salrios, elevado turnover etc. , segundo Wicks-Lim (2010).
TABELA 18
Evoluo do mercado de trabalho americano 2007-2010
(Em milhes de pessoas iguais ou acima de 16 anos)
Ano PIA
PEA
Inativos
Total PEA (%)
Empregados Desempregados
Total PIA (%) Total PEA (%)
2007 231,9 153,1 66,0 146,0 63,0 7,1 4,6 78,7
2008 233,8 154,3 66,0 145,4 62,2 8,9 5,8 79,5
2009 235,8 154,1 65,4 139,9 59,3 14,3 9,3 81,7
2010 237,8 153,9 64,7 139,1 58,5 14,8 9,6 83,9
Fonte: Bureau Labor Statistics.
Elaborao do autor.
Nota: Populao em idade ativa.
68 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
Nesse contexto de crise de emprego, o presidente Barack Obama est viven-
ciando um problema de legitimidade interna signifcativo, haja vista o seu atual
baixo ndice de popularidade e a vitria eleitoral do partido oposicionista repu-
blicanos nas eleies para o Congresso novembro de 2010. A questo posta
que as duas principais estratgias do presidente para combater a crise poltica in-
dustrial voltada gerao de energia limpa, e a ampliao do investimento pblico
em infraestrutura econmica e social no tm conseguido deslanchar, sobretudo
no que diz respeito gerao de emprego, quer seja pelo seu carter mais estrutu-
ral, quer seja pela resistncia do partido republicano e de parte da populao con-
tra a manuteno das polticas fscais expansionistas que geram dfcits pblicos.
Para Papadimitriu e Hannsgen (2010), a crise ainda no foi superada: o merca-
do de trabalho continua a ser o ponto crtico e a economia deve continuar a ser esti-
mulada pelo governo por meio da manuteno dos elevados dfcits do setor pblico.
No atual contexto poltico, parece que cada vez mais o presidente Barack
Obama, mesmo no cenrio de baixa infao, no conseguir manter os estmu-
los fscais destinados aos investimentos e garantia de renda, devido s presses
internas. Como ento resolver o problema do desemprego no ciclo eleitoral, pois
a eleio se aproxima (2012) e, provavelmente, este ser o grande tema do debate
eleitoral. Tudo indica que o presidente j escolheu o inimigo dos empregos ame-
ricanos: as exportaes chinesas. Basta observar o tom dos discursos recentes do
presidente, bem como de outras autoridades do governo secretrio do Tesouro
etc. , quando o tema a desvalorizao da moeda chinesa. Quando difculdades
de conciliao entre os segmentos internos surgem, a alternativa poltica america-
na, quase sempre, escolher um inimigo externo, neste caso, a China.
A estratgia do presidente Barack Obama apresenta duas dimenses hist-
ricas (conjuntural e estrutural, no sentido braudeliano) que podem se articular a
depender do seu alcance. Pelo lado conjuntural, o ataque s exportaes chinesas
representam a busca de legitimidade interna pela via da defesa do emprego para os
americanos, haja vista o ciclo eleitoral. Pelo lado estrutural, os Estados Unidos, ao
escolher a China como o pas a ser contido, vm buscando aproximaes com a
ndia e, especialmente, a Rssia. Nessa possvel aliana entre a Rssia e os Estados
Unidos
32
duas dimenses seriam contempladas: i) no plano geopoltico, a Rssia
colaboraria com a estabilizao da sia Central (...), ao passo que
32. O presidente Barack Obama vem conduzindo uma mudana signicativa na relao entre os Estados Unidos e a
Rssia por meio de uma poltica externa de reset (recomeo). Anunciada em fevereiro [de 2010], durante a visita
do vice-presidente John Biden a Moscou, a poltica do reset (...), a despeito de todas as contradies e restries,
levou o Conselho Nacional de Segurana americano a conduzir uma reviso formal de sua poltica em relao a Rssia
e permitiu um melhoramento signicativo das relaes entre os dois pases; sob a liderana da Secretria de Estado
Hilary Clinton e do Ministro das Relaes exteriores da Rssia Sergei Lavrov, foi criada uma Comisso Presidencial bi-
-lateral, com mais de uma dezena de grupos de trabalho para trabalhar assuntos de interesse de ambos os pases. No
menos signicativo foram o avano das negociaes e a assinatura do novo START, para a reduo do arsenal nuclear
dos dois pases e a aproximao, derivada do processo de negociaes, entre os presidentes Obama e Medvedev
(POMERANZ, 2011, p. 174-175).
69 O Eixo Sino-Americano e as Transformaes do Sistema Mundial
(...) a Rssia teria o apoio americano para retomar sua zona de infuncia, e re-
construir sua hegemonia nos territrios perdidos, depois da Guerra Fria, sem as
armas, e pelo caminho do mercado e das presses diplomticas (FIORI, 2011, p. 1);
e ii) no plano geoeconmico, a aliana se confguraria a partir do apoio ameri-
cano ao desenvolvimento do capitalismo russo, bloqueado pelo seu excessivo
vis primrio-exportador, com o objetivo de bloquear a expanso chinesa na
sia (FIORI, 2011, p. 1). Esse possvel apoio americano vai ao encontro da dis-
cusso interna russa do ps-crise que se centra na necessidade de modernizao/
diversifcao da economia mudana na estratgia de desenvolvimento de longo
prazo. Uma das medidas mais emblemticas dessa nova estratgia a criao do
Centro de Inovao Tecnolgica de Skolkovo
33
a verso russa do Silicon Valley
(POMERANZ, 2011).
O presidente Barack Obama, provavelmente premido pelo ciclo eleitoral
e pela perda de legitimidade, est apostando em uma estratgia ousada e de alto
risco, que, inclusive, pode gerar mudanas radicais na geopoltica mundial do
sculo XXI. Este possvel cenrio gera trs questes que esto postas para se con-
jecturar a respeito da geopoltica mundial: i) ser que o governo russo realmente
vai compra essa ideia de aliana?; ii) as mudanas presidenciais que ocorrero nos
Estados Unidos e na Rssia em 2012 no atropelaro essa possvel estratgia de
aliana? (FIORI, 2011); e iii) quais sero as reaes da China caso essa aliana
se processe, ainda mais que as economias dos Estados Unidos e da China esto
ligadas de forma siamesa?
No que se refere a esse ltimo ponto, Henry Kissinger afrmou, em setem-
bro de 2010, que: O DNA de ambos [dos Estados Unidos e da China] poderia
gerar, cada vez mais, uma relao de adversrios. Contudo, ambos deveriam evi-
tar isso, pois
(...) seus lderes no tm tarefa mais importante do que implementar a verdade: que
nenhum dos dois pases ser capaz de algum dia dominar o outro, e que um confito
[com tom blico] entre eles vai exaurir suas sociedades e solapar as perspectivas de
paz mundial (apud DIEGUEZ, 2011, p. 42).
33. O projeto do Centro de Inovao Tecnolgica iniciou-se com a viagem de Vladislav Surkov, ento presidente da
Comisso Presidencial, aos Estados Unidos em janeiro de 2010, para participar de um seminrio sobre inovao no
MIT; e recebimento, em meados de fevereiro, de uma delegao do Silicon Valley Rssia, que incluiu altos executivos
da EBay, da Twitter e da Cisco Systems, entre outros. Nesta mesma poca, em entrevista concedida ao jornal Vede-
mosti, [Surkov] alinhou diretrizes para a formao do centro: a) ele seria to aberto quanto possvel, num quadro de
referncia internacional, cosmopolita; b) seria preciso construir uma atividade inovadora estatisticamente signicante,
a m de tornar a economia russa, parte integrante da chamada terceira onda; c) seria preciso criar inovaes e pro-
dues para as quais h demanda, tentando desenvolver uma demanda competitiva. No havia ainda deciso sobre
a sua localizao, nem sobre a sua dimenso territorial. Surkov referiu-se a alternativas como Moscou e Vladivostock.
Finalmente, em 17 de maro, o presidente Medvedev anunciou a deciso de construir a verso russa do Silicon Valley
em uma rea de 370 hectares, na cidade de Skolkovo, na regio de Moscou (...) (POMERANZ, 2011, p. 171).
70 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
5 CONSIDERAES FINAIS
Procurou-se, ao longo deste artigo, mostrar que boa parte das transforma-
es ocorridas no sistema econmico e poltico mundial, na primeira d-
cada do sculo XXI, foi gerada pela configurao do eixo sino-americano.
Processo este que tem provocado modificaes significativas na diviso in-
ternacional do trabalho ampliao do processo de globalizao produ-
tiva e nos fluxos comerciais e financeiros, e que se acelerou ainda mais
aps a crise internacional de 2008. Observou-se tambm que esse novo eixo
sino-americano de acumulao capitalista marcado por tenses (no pla-
no geopoltico) e complementaridades profundas no plano comercial (am-
pliao da corrente de comrcio), produtivo (articulao entre as empresas
americanas e chinesas na cadeia global de produo) e financeiro (reservas
estrangeiras da China e ttulos do Tesouro americano).
O que fca evidente na conjuntura econmica e poltica internacional que
aps a crise est-se vivendo, provavelmente, um ponto de bifurcao histrica
em que, segundo Prigogine (1996), o determinismo negado, dado que nesse
ponto o sistema se depara com a dimenso da indeterminao. Isso, na verdade,
caracteriza a irreversibilidade do tempo e das evolues dos sistemas instveis,
pois, quando o sistema segue certa trajetria entre as bifurcaes, no existe mais
a possibilidade de retornar ao modo anterior. nessa fase que os agentes, neste
caso os Estados, podem criar opes dada a disponibilidade do conjunto de in-
formaes e de suas estratgias de ao que so capazes de modifcar consciente-
mente o seu ambiente. Na perspectiva do sistema econmico e poltico mundial,
isso signifca a abertura de possibilidades para que alguns pases consigam subir
na hierarquia do sistema.
Nesse cenrio de bifurcao histrica podero surgir transformaes pro-
fundas para a geopoltica e a economia mundial do sculo XXI. Os desfechos do
contexto de elevao das tenses entre China e os Estados Unidos e a possvel
aproximao deste ltimo com a Rssia e ndia podem sinalizar novas trajetrias.
As prximas jogadas podero sinalizar os vitoriosos nesse grande jogo de xadrez
do tabuleiro mundial. claro que o xeque-mate entre os principais oponentes
China e Estados Unidos ainda est distante do nosso tempo histrico, como
bem alertou Henry Kissinger.
REFERNCIAS
ACIOLY, L.; CHERNAVSKY, E.; LEO, R. Crise internacional: medidas de
polticas de pases selecionados. Boletim de Economia Poltica Internacional,
Ipea, n. 1, jan./mar. 2010.
71 O Eixo Sino-Americano e as Transformaes do Sistema Mundial
BALANCO, P.; PINTO, E. Padres de desenvolvimento, funes estatais e en-
dividamento no capitalismo contemporneo. Anlise Econmica, Porto Alegre,
UFRGS, v. 46, p. 165-188, 2005.
______. Os anos dourados do capitalismo: uma tentativa de harmonizao entre
as classes. Pesquisa & Debate (on-line), v. 18, p. 27-47, 2007.
BANCO MUNDIAL. Te East Asian miracle: economic growth and public
policy. New York: Oxford University Press, 1993.
BOYER, R. Dois desafos para o sculo XXI: disciplinar as fnanas e organizar a
internacionalizao. Nexos Econmicos, Salvador, UFBA, v. 1, n. 2, dez. 1999.
BRANSTETTER, L.; LARDY, N. Chinas embrace of globalization. Cam-
bridge, MA: NBER, 2006 (Working Paper, n. 12373).
BRENNER, R. O boom e a bolha: os EUA na economia mundial. Rio de Janei-
ro: Record, 2003.
BUSATO, M.; PINTO, E. A nova geografa econmica: uma perspectiva regula-
cionista. Revista Desenbahia, Salvador, BA, v. 2, p. 201-222, 2005.
CARCANHOLO, M.; FILGUEIRAS, L.; PINTO, E. A Alca (ainda) no fa-
leceu: alternativas reais para a Amrica Latina e Caribe. In: ESTAY, J. (Org.).
La Crisis Mundial y sus Impactos en Amrica Latina. Puebla: BUAP, 2009.
p. 131-162.
CHESNAIS, F. A mundializao do capital. So Paulo: Xam, 1996.
______. A emergncia de um regime de acumulao mundial predominante-
mente fnanceiro. Estudos Marxistas, So Paulo, Hucitec, n. 3, p. 19-46, 1997.
______. Nova economia: uma conjuntura especfca da potncia hegemnica no
contexto da mundializao do capital. Revista da Sociedade Brasileira de Eco-
nomia Poltica, Rio de Janeiro, 7 Letras, n. 9, p. 53-85, dez. 2001.
CINTRA, M. As instituies fnanceiras de fomento e o desenvolvimento eco-
nmico: as experincias dos EUA e da China. In: FERREIRA, F.; MEIRELLES,
B. (Org.) Ensaios sobre economia fnanceira. Rio de Janeiro: BNDES, 2009.
CUNHA, A. O paradigma do Estado desenvolvimentista: origens e relevn-
cia contempornea. Braslia: Ipea, 2010. Mimeografado.
CUNHA, A.; ACIOLY, A. China: ascenso condio de potncia global: ca-
ractersticas e implicaes. In: CARDOSO, J.; ACIOLY, L.; MATIJASCIC, M.
(Org.). Trajetrias recentes de desenvolvimentos. Braslia: Ipea, 2009.
72 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
DIEGUEZ, F. Subelevao na sia. Retrato do Brasil, n. 42, p. 34-38, jan. 2011.
FANG, C.; YANG, D.; MEIYAN, W. Crise e oportunidade: resposta da China
crise fnanceira global. Revista Tempo do Mundo, Braslia, DF, Ipea, v. 1,
n. 1, dez. 2009.
FHARI, M. Crise fnanceira e reformas da superviso e regulao. In: ACIOLY,
L.; CINTRA, M. A. M. (Ed.). Insero internacional brasileira: temas de eco-
nomia internacional. Braslia: Ipea, 2010. v. 2.
FILIPE, J. et al. Why has China succeeded: and why it will continue to do so.
New York: Levy Economics Institute of Bard College, 2010 (Working Paper,
n. 611). Disponvel em: <http://www.levyinstitute.org/pubs/wp_611.pdf>.
FIORI, J. L. Globalizao, hegemonia e imprio. In: TAVARES, M. C.; FIORI,
J. L. (Org.). Poder e dinheiro: uma economia poltica da globalizao. Petrpo-
lis, RJ: Vozes, 1997.
______. Formao, expanso e limites do poder global. In: FIORI, J. L. (Org.).
O poder americano. Petrpolis, RJ: Vozes, 2004.
______. Brasil e Amrica do Sul: o desafo da insero internacional soberana.
In: ACIOLY, L.; CINTRA, M. A. M. (Ed.). Insero internacional brasileira.
Braslia: Ipea, 2010. v. 1.
______. O grande jogo de Barack Obama. Valor econmico, 26 jan. 2011.
FIORI, J. L. O sistema interestatal capitalista no incio do sculo XXI. In: FIORI,
J. L.; MEDEIROS, C. A.; SERRANO, F. (Org.). O mito do colapso do poder
americano. Rio de Janeiro: Record, 2008. p. 173-277.
FREITAS, M.; CINTRA, M. Infao e defao de ativos a partir do mercado
imobilirio americano. Revista de Economia Poltica, So Paulo, v. 28, n. 3,
p. 414-433, 2008.
FUNDO MONETRIO INTERNACIONAL (FMI). World Economic Out-
look Database, Oct. 2010.
HIRATUKA, C.; SARTI, F. Investimento direto e internacionalizao de empre-
sas brasileiras no perodo recente. In: ACIOLY, L.; CINTRA, M. A. M. (Ed.).
Insero internacional brasileira: temas de economia internacional. Braslia:
Ipea, 2010. v. 2.
KHATIWADA, S. Stimulus packages to counter global economic crisis: a
review. Genebra: International Institute for Labour Studies, 2009 (Texto para
Discusso, n. 196).
73 O Eixo Sino-Americano e as Transformaes do Sistema Mundial
KREGEL, J. Minskys cushions of safety: systemic risk and the crisis in the U.S.
subprime mortgage market. New York: Te Levy Economics Institute of Bard
College, Jan. 2008 (Public Policy Brief, n. 93).
LEO, B. As relaes econmicas EUA-China no incio do sculo XXI. 2009.
Tese (Doutorado) Universidade de Braslia, Instituto de Relaes Internacio-
nais, Braslia, 2009.
LEO, R. P. F. China: notas sobre a migrao, as transformaes na produo e
os efeitos no mercado de trabalho. Boletim de Economia Poltica Internacio-
nal, Ipea, n. 2, abr./jun. 2010a.
______. A gesto da poltica cambial chinesa: as lies do perodo da crise fnan-
ceira de 2008. Boletim de Economia e Poltica Internacional, n. 4, p. 31-40,
out./dez. 2010b.
LICHTENSZTEJN, S.; BAER, M. Fundo Monetrio Internacional e bando
mundial: estratgias e polticas do poder fnanceiro. So Paulo: Brasiliense, 1987.
LINDEN, G.; KRAEMER, K.; DEDRICK, J. Who captures value in a global
innovation system? Te case of Apples ipod. PCIC, jun. 2007.
MACEDO E SILVA, A. C. Mudanas estruturais na economia global: produo
e comrcio. In: ACIOLY, L.; CINTRA, M. A. M. (Ed.). Insero internacional
brasileira: temas de economia internacional. Braslia: Ipea, 2010. v. 2.
MARTI, M. A China de Deng Xiaoping. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2007.
MARTINELLI, F.; SCHOENBERGER, E. Os oligoplios esto de boa sade,
obrigado! Elementos de refexo sobre a acumulao fexvel. In: BENKO, G.;
LIPIETZ, A. (Org.). As regies ganhadoras distritos e redes: os novos para-
digmas da geografa econmica. Oeiras: Celta Editora, 1994.
MCNALLY, D. Te present as history: thoughts on capitalism at the millen-
nium. Monthly Review, v. 51, n. 3, p. 134-145, July/Aug. 1999.
MEDEIROS, C. A. Globalizao e insero internacional diferenciada da sia e
da Amrica Latina. In: TAVARES, M. C.; FIORI, J. L. (Org.). Poder e dinheiro:
uma economia poltica da globalizao. Petrpolis: Vozes, 1997. p. 279-346.
______. China: entre os sculos XX e XXI. In: FIORI, J. L. (Org.). Estados e
moedas no desenvolvimento das naes. Petrpolis, RJ: Vozes, 1999.
______. A China como um duplo plo na economia mundial e a recentraliza-
o da economia asitica. Revista de Economia Poltica, So Paulo, v. 26, n. 3,
p. 577-594, jul./set. 2006.
74 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
______. Desenvolvimento econmico e ascenso nacional: rupturas e transies
na Rssia e na China. In: FIORI, J. L.; MEDEIROS, C. A.; SERRANO, F.
(Org.). O mito do colapso do poder americano. Rio de Janeiro: Record, 2008.
p. 173-277.
______. O ciclo recente de crescimento chins e seus desafios. In: EN-
CONTRO NACIONAL DE ECONOMIA POLTICA (SEP), 15.,
So Luis, Maranho, 2010.
MEDEIROS, C. A.; SERRANO, F. Insero externa, exportaes e crescimento
no Brasil. In: FIORI, J. L.; MEDEIROS, C. A. (Org.). Polarizao mundial e
crescimento. Petrpolis, RJ: Vozes, 2001.
NOGUEIRA, I. Desenvolvimento econmico, distribuio de renda e pobre-
za na China contempornea. 2011. Tese (Doutorado) Universidade Federal
do Rio de Janeiro, Instituto de Economia, Rio de Janeiro, 2011.
NONNEMBERG, M. J. B. China: estabilidade e crescimento econmico. Bra-
slia: Ipea, 2010 (Texto para Discusso, n.1470).
OLIVEIRA, N. A converso obediente ao mandato imperial: refexo sobre po-
lticas impostas pelo Banco Mundial. Cadernos do CEAS, Salvador, n. 178,
p. 21-44, nov./dez. 1998.
______. Neocorporativismo e poltica pblica: um estudo das novas confgura-
es assumidas pelo Estado. So Paulo: Edies Loyola/Ceas, 2004.
ORGANIZAO PARA COOPERAO E DESENVOLVIMENTO ECO-
NMICO (OCDE). Directorate for Science, Technology and Industry. STAN
Indicators, 2003.
PALMA, G. Gansos voadores e patos vulnerveis: a diferena da liderana do Ja-
po e dos Estados Unidos, no desenvolvimento do Sudeste Asitico e da Amrica
Latina. In: FIORI, J. L. (Org.). O poder americano. Petrpolis: Vozes, 2004.
PAPADIMITRIU, D.; HANNSGEN, G. Debts, defcits, economic recovery
and the U.S. government. New York: Levy Economics Institute of Bard College,
2010 (Public Policy Brief, n. 114). Disponvel em: <http://www.levyinstitute.
org/pubs/ppb_114.pdf>.
PINTO, E. As dimenses constitutivas do capitalismo contemporneo e a
desarticulao social e setorial no Brasil. 2005. Dissertao (Mestrado) Uni-
versidade Federal da Bahia, Faculdade de Cincias Econmicas, Salvador, 2005.
______. Bloco no poder e governo Lula: grupos econmicos, poltica econmi-
ca e novo eixo sino-americano. 2010. Tese (Doutorado) Universidade Federal
do Rio de Janeiro, Instituto de Economia, Rio de Janeiro, 2010a.
75 O Eixo Sino-Americano e as Transformaes do Sistema Mundial
______. O eixo sino-americano e a insero externa brasileira: antes e depois da
crise. In: ACIOLY, L.; CINTRA, M. (Org.). Insero internacional brasileira.
Braslia: Ipea, 2010b. v. 2.
PINTO, E.; BALANCO, P. Capitalismo contemporneo e suas dimenses cons-
titutivas. In: GOMES, F.; PINTO, E. (Org.). (Des)ordem e regresso: o perodo
de ajustamento neoliberal no Brasil, 1990-2000. So Paulo: Mandacaru, Hucitec,
2009. p. 252-284. v. 1.
POLLIN, R. U.S. trade policy and Jobs crises. Peri/University of Massachu-
setts, Sept. 2010.
POMERANZ, L. Rssia: mudanas na estratgia de desenvolvimento. In:
PINELI, A. Uma longa transio: vinte anos de transformao na Rssia. Bra-
slia: Ipea, 2011.
PRASAD, E; GU, G. An awkward dance: China and the United States.
Washington, DC: Brookings Institution, 2009.
PRASAD, E.; SORKIN, I. Skys the limit? National and global implications of
Chinas reserve accumulation. Washington, DC: Brookings Institution, 2009.
PRIGOGINE, I. O fm das certezas: tempo, caos e leis da natureza. So Paulo:
Editora da Universidade Estadual Paulista, 1996.
RODRICK, D. Whats so special about Chinas exports? Cambrigde, MA:
NBER, 2006 (Working Paper, n. 11947).
ROSSI, C. Como fca o Brasil diante do G2? Folha de S.Paulo, So Paulo,
p. A10, 22 jan. 2010.
SALAMA, P. Do produtivo ao fnanceiro e do fnanceiro ao produtivo na sia e
na Amrica Latina. Revista da Sociedade Brasileira de Economia Poltica, Rio
de Janeiro, 7 Letras, n. 6, p. 5-47, jun. 2000.
SCHOTT, P. Te relative sophistication of Chinese exports. Economic Policy,
53, p. 5-49, 2008.
SEABROKE, L. US power in international fnance: the victory of dividends.
New York: Palgrave, 2001.
SERRANO, F. Do ouro imvel ao dlar fexvel. Economia e Sociedade, Insti-
tuto de Economia/UNICAMP, n. 20, 2002.
______. Relaes de poder e a poltica macroeconmica americana, de Bretton
Woods ao padro dlar fexvel. In: FIORI, J. L. (Org.). O poder americano.
Petrpolis, RJ: Vozes, 2004.
76 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
______. A economia americana, o padro dlar fexvel e a expanso mundial nos
anos 2000. In: FIORI, J. L; MEDEIROS, C. A.; SERRANO, F. (Org.). O mito
do colapso do poder americano. Rio de Janeiro: Record, 2008. p. 173-277.
SHANGHAI COMMUNIQU. Joint Communique of the United States of
America and the Peoples Republic of China. Febr. 28
th
1972. Disponvel em:
<http://www.taiwandocuments.org/communique01.htm>.
STURGEON, T. Modular production networks: a new american model of in-
dustrial organization. Industrial and Corporate Change, v. 11, n. 3, p. 451-
496, 2002.
TAVARES, M. C. A retomada da hegemonia americana. In: TAVARES, M. C.;
FIORI, J. L. (Org.). Poder e dinheiro: uma economia poltica da globalizao.
Petrpolis, RJ: Vozes, 1997.
TAVARES, M. C.; BELLUZO, L. G. M. A mundializao do capital e a expanso
do poder americano. In: FIORI, J. L. (Org.). O poder americano. Petrpolis, RJ:
Vozes, 2004.
THORSTENSEN, V. China e EUA: de guerras cambiais a guerra comerciais.
Poltica Externa, v. 19, n. 13, p. 11-34, dez./fev. 2010-2011.
VELTZ, P. Hierarquias e redes: na organizao da produo e do territrio.
In: BENKO, G.; LIPIETZ, A. (Org.). As regies ganhadoras distritos e redes:
os novos paradigmas da geografa econmica. Oeiras: Celta Editora, 1994.
WADE, R. Governing the market: economic theory and the role of government
in East Asian industrialization. Princeton: Princeton University Press, 2003.
WALDMEIR, P.; COOKSO, R. China in fresh interest rate rise. Financial
Times, London, Feb. 9
th
2011.
WHITTAKER, D. et al. Compressed development. Studies in Comparative
International Development (SCID), v. 45, n. 4, p. 439-467, Dec. 2010.
WICKS-LIM, J. Creating decent jobs. Peri/University of Massachusetts, Jan. 2010.
WOOLDRIDGE, A. Te world turned upside down. Te Economist: a special
report on innovation in emerging markets, New York, Apr. 17
th
2010.
XIAOLIAN, H. Exchange Rate Regime Reform and Monetary
Policy Efectiveness. Banco Popular da China, July 26
th
2010.
Disponvel em: <http://www.pbc.gov.cn/publish/english
/956/2010/20100804100116452770088/20100804100116452770088_.html>.
XU, B.; LU, J. Foreign direct investment, processing trade, and the sophistication
of Chinas exports. China Economic Review, n. 20, p. 425-439, 2009.
77 O Eixo Sino-Americano e as Transformaes do Sistema Mundial
ZUGUI, G. Transforming Sino-U.S. strategic relations. Contemporary International
Relations (CIR), Beijing, v. 20, n. 3, p. 31-40, May/June 2010.
CAPTULO 2
A ASCENSO CHINESA: IMPLICAES PARA AS ECONOMIAS
DA EUROPA
Sandra Poncet
*
1 INTRODUO
Em fevereiro de 2011, a China entrou no ano do coelho desfrutando da posio
de segunda maior economia do mundo. Conforme destacado por Martin e Mjean
(2011), esse cenrio foi resultado de uma progressiva ascenso da China na produo
e no comrcio desde o incio da dcada de 1990. No mbito do comrcio mundial,
a maior integrao chinesa tem se dado em um ritmo impressionante ao longo das
ltimas duas dcadas. As exportaes chinesas mais que quintuplicaram entre 1992
e 2007. O funcionamento econmico da China tem passado por transformaes
radicais, uma vez que o pas asitico saiu de uma posio isolada internacionalmente
para uma economia altamente integrada, cujas exportaes que eram inferiores a
10% do produto interno bruto (PIB), em 1980, chegaram a um percentual de mais
de 37%, em 2007. Este processo foi acompanhado por uma diversifcao no menos
impressionante do comrcio exterior chins, na qual as vendas de manufaturados
assumiram uma funo central na pauta global de exportao, desde tecidos de baixo
valor agregado at eletrnicos de alta tecnologia e computadores.
Um aspecto dessa integrao comercial foi a rpida modernizao das
exportaes chinesas. Nesse sentido, a partir de meados dos anos 1990, a pauta
de exportao da China se notabilizou no apenas por agregar uma gama muito
ampla de produtos, mas tambm pela elevada capacidade de exportar produtos
intensivos em capital, produtos de alta tecnologia, bem como produtos que
costumam ser considerados como pertencentes rea de especializao de pases
mais desenvolvidos. Isso permitiu uma acelerada ascenso das empresas chinesas
nos mercados mundiais dos setores de tecnologia da informao (TI), telefones
celulares e eletrnicos, tais quais a Lenovo, a Founder, TCL e a Skyworth.
Conforme o grfco 1, ao longo do perodo 1991-2009, o aumento
signifcativo dos pases emergentes
1
na participao mundial de exportaes
* Professora de Economia da Universidade Paris 1, Panthon Sorbone, e pesquisadora do Centro de Estudos e Investi-
gao em Economia Internacional da Frana (CEPII).
1. Nesse grupo, consideram-se os seguintes pases: Turquia, Unio da frica do Sul, Equador, Mxico, Brasil, Argentina, Chile,
Colmbia, Tunsia, Egito, Indonsia, ndia, Malsia, Filipinas, Tailndia, Brunei, Bangladesh, Sri Lanka, Rssia, China e Indochina.
80 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
(de 10% para 26%) foi impulsionado principalmente pela elevao da
participao chinesa, que saltou de 3% para 11%. Este aumento de quase dez
pontos percentuais (p.p.) foi acompanhado por uma reduo, de magnitude
quase equivalente (de 44% para 34%), no percentual das exportaes mundiais
dos 15 principais pases da Unio Europeia (UE-15).
GRFICO 1
Evoluo da participao nas exportaes mundiais por regies e pases seleciona-
dos 1991-2009
(Em %)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
UE-15 Pases emergentes Estados Unidos China
Fonte: Chelem Database. Disponvel em: <http://chelem.bvdep.com>.
Elaborao da autora.
De modo geral, essa evoluo concomitante e inversa das pautas expor-
tadoras tem sido associada crise econmica e ao crescimento do desemprego
da Europa. Tais temores levaram a reaes por vezes desequilibradas. Bongiorni
(2007) que descreveu sua tentativa de passar um ano sem consumir produtos
fabricados na China, advertiu para a elevada dependncia ocidental das exporta-
es chinesas, j que quase tudo tem sido fabricado nesse pas. Parte do pblico
e dos formuladores de polticas tem sugerido que a transferncia inevitvel de
atividades para a China tenha sido a responsvel pela eliminao de empregos.
Entre 1990 e 2007, o estoque de investimento direto estrangeiro (IDE) em ma-
nufatura realizado pelos pases que compem a UE-15 participao de longo
prazo em ativos produtivos no exterior aumentou seis vezes (de US$ 299 bi-
lhes para US$ 1,97 trilho), segundo a Organizao para Cooperao e Desen-
volvimento Econmico (OCDE). De acordo com as estatsticas da EU KLEMS
(2009), o setor manufatureiro da UE-15 possua 38,5 milhes de empregos em
1990 e apenas 27,6 milhes em 2007. O cenrio do emprego industrial no pas e
81 A Ascenso Chinesa: implicaes para as economias da Europa
no exterior das empresas multinacionais da Alemanha tambm no foi diferente.
Em 1990, a Alemanha contabilizava 10,4 milhes de empregos na indstria
local e 819 mil empregos no exterior em filiais alems. J em 2007, enquanto
o setor de manufatura alemo havia perdido 3 milhes de empregos, as filiais
estrangeiras de corporaes alems viram ser criados 1,9 milho de empre-
gos, como apontou a OCDE. Mesmo que esses dois nmeros no tivessem
uma relao direta com a insero chinesa no processo de globalizao, apa-
receram como resultados negativos para os formuladores de polticas pbli-
cas e para a sociedade em geral.
Alm disso, uma srie de analistas tem alertado que a emergncia da Chi-
na impulsionou um acirramento da concorrncia entre os custos de produo,
fazendo que, de forma crescente, os salrios europeus fossem determinados em
Pequim (FREEMAN, 1995). Tais preocupaes sobre os supostos efeitos negati-
vos da globalizao e da intensifcao da concorrncia com a China em matria
de emprego e salrios trouxeram implicaes polticas relevantes. De acordo com
o Eurobarometer, esses resultados justifcaram o voto contrrio no referendo da
Constituio Europeia, em 2005, na Frana. A Comisso Europeia sugeriu a im-
posio de sanes fnanceiras s empresas que tinham recebido fnanciamento
da Unio Europeia, mas decidiram se estabelecer em outra localidade. Em maio
de 2005, a Comisso de Desenvolvimento Regional do Parlamento Europeu
(European Parliaments Regional Development Committed) expressou forte
apoio a esta proposta e tambm pediu medidas legais a fm de garantir que as
corporaes detentoras de subsdios europeus no se deslocassem para o exterior
durante um perodo longo e predeterminado. Vrios pases europeus adotaram
regulamentos visando impedir o acesso a recursos pblicos subsidiados s empre-
sas que transferissem uma parcela signifcativa de suas atividades para o exterior
como na Itlia , ou ofereceram subsdios s companhias para estimular o retorno
ao pas de origem de atividades que antes estavam localizadas no exterior como
na Frana. Alguns economistas chegaram a defender sanes comerciais se a Chi-
na no permitisse a valorizao de sua moeda. Apesar das evidncias observadas
sobre os efeitos da ascenso econmica chinesa, as polticas econmicas dos ou-
tros pases, em vrios casos, tambm foram responsveis pelas transformaes das
cadeias produtivas e do mercado de trabalho europeu.
Tendo em vista esse debate, torna-se fundamental analisar as pesquisas re-
centes para compreender de modo mais preciso e abrangente as consequncias
para a Europa do recente crescimento econmico da China. Este trabalho, por-
tanto, avalia como a concorrncia com economias de baixos salrios, particular-
mente a da China, afeta os pases europeus. De maneira mais especfca, pretende
destacar os diversos canais, tanto positivos como negativos, pelos quais se deram
os impactos sociais, econmicos e no comrcio exterior dos pases europeus.
82 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
Para alcanar esses objetivos, este trabalho divide-se em duas sees, alm
desta introduo e das consideraes fnais. A seo 2 discute a forma como a
crescente competitividade da China nos mercados de exportao tem afetado
o desempenho comercial dos pases europeus, estabelecendo uma comparao
entre Alemanha e Frana. Em uma anlise ainda preliminar, as duas primeiras
subsees (2.1 e 2.2) sugerem que os pases europeus resistiram muito bem
concorrncia da China, pelo menos melhor do que os Estados Unidos e o Japo.
2
Isso foi explicado pelo fato de a China e os pases europeus exportarem cada vez
mais produtos semelhantes de acordo com as categorias estatsticas, mas que no
apresentaram as mesmas variedades/qualidades. A subseo 2.3, a partir de uma
comparao entre Alemanha e Frana, tambm aponta que o posicionamento
mais elevado de mercado permitiu Unio Europeia maior resistncia s presses
competitivas advindas de pases emergentes com baixos salrios. Todavia, apesar
dos efeitos reduzidos do crescimento das exportaes chinesas para a Europa, as
reformas comerciais e fnanceiras do pas asitico deram s empresas europeias
uma oportunidade para ingressarem no mercado chins, aproveitando-se da forte
expanso das receitas exportadoras daquele pas. A subseo 2.4 salienta que gran-
de parte das exportaes chinesas foram produzidas por frmas com investimen-
to estrangeiro (FIE) e que uma proporo quase igual de exportaes chinesas
incorporou componentes importados. Com efeito, a China agregou um valor
relativamente baixo sua produo, transferindo boa parte desses ganhos para as
transnacionais estrangeiras (entre as quais as europeias).
A seo 3 deste trabalho mostra o impacto econmico e social da interna-
cionalizao chinesa sobre as economias europeias, analisando, nas duas primeiras
subsees, os vrios canais pelos quais o comrcio com a China e os investimentos
realizados nesse pas afetou o mercado de trabalho europeu. Partindo dessa anlise,
os supostos efeitos negativos da transferncia de parte da produo para pases com
mo de obra barata no se comprovaram empiricamente. O impacto macroeco-
nmico adverso da concorrncia, em termos de emprego, imposta pelas regies
de baixos salrios concentrou-se no trabalhador menos qualifcado e foi bastante
limitado. Ademais, na subseo 3.3, discute-se a possibilidade de que a emergncia
da China pudesse ser efetivamente uma oportunidade para as empresas europeias,
entre outros aspectos, reduzirem seus custos de produo e aumentarem a produti-
vidade, alm de impulsionarem um ciclo virtuoso de inovao. Estudos empricos
em nvel de empresa enfatizaram que, por um lado, os efeitos dos IDEs nas ativi-
2.Embora a sobreposio de exportaes da China com a UE seja muito maior do que seria possvel prever, dado o seu
tamanho e nvel relativo de desenvolvimento, em mercados de produtos, as variedades chinesas custam menos do que
as variedades da UE, e o preo relativo chins vem diminuindo ao longo do tempo em alguns segmentos. Uma anlise
detalhada de dados sugere que a emergncia da China como exportadora de quase todos os produtos (mesmo os mais
sosticados) no implica automaticamente um colapso das indstrias manufatureiras na Europa (e em outras econo-
mias desenvolvidas). Conforme argumentado por Fontagn (2009), a especializao ocorre em nveis mais renados
de desagregao da mercadoria do que se costumava pensar.
83 A Ascenso Chinesa: implicaes para as economias da Europa
dades das matrizes emprego e produtividade foram muitas vezes considerados
positivos. Por outro lado, a disponibilidade de produtos baratos importados da
China benefciou o consumidor fnal, em especial os de baixa renda.
Por fm, seguem-se as consideraes fnais que busca sintetizar as principais
ideias descritas nas sees anteriores.
2 OS EFEITOS DA CONCORRNCIA CHINESA SOBRE OS MERCADOS DE
EXPORTAES DA UNIO EUROPEIA
2.1 O debate em torno da concorrncia sino-europeia
Segundo a teoria de vantagem comparativa, o grau em que os pases se especializam
em diferentes grupos de bens tem implicaes importantes para os trabalhadores,
seja por meio da determinao dos salrios, seja pela variao dos custos produtivos.
Se a concorrncia imposta pela China tem se dado naqueles setores em que a Unio
Europeia produziu e exportou a maior parcela de sua cesta de bens, os efeitos da en-
trada chinesa no mercado global impactariam os mercados exportadores europeus.
Com efeito, a reduo de preos globais dos manufaturados, impulsionada pela libe-
ralizao do comrcio e pelo crescimento chins, deveria reduzir os salrios europeus.
Em contrapartida, se os chineses e a Unio Europeia no estiveram posicionados no
mesmo segmento de mercado e, assim, no concorreram diretamente, os salrios dos
trabalhadores europeus no seriam impactados diretamente pelos bens produzidos
na China. Nesse mesmo caso, a diferenciao/complementaridade entre a produo
chinesa e da Unio Europeia reduziria o valor das importaes europeias, em funo
da reduo dos preos dos produtos chineses, criando um adicional de renda dispo-
nvel para aquisio de outros bens e servios (SCHOTT, 2008).
Vrios estudos cujo objeto de anlise foi a especializao do comrcio da China
e dos pases da Unio Europeia sugeriram que ambas as regies convergiram para a
atuao em setores similares de mercado. Para Rodrik (2006), por exemplo, a China
se afrmou como caso atpico em relao sofsticao total de suas exportaes.
De acordo com o ndice de sofsticao de Hausmann, Hwang e Rodrik (2007),
que estimou o nvel mdio de receitas das exportaes de um pas, o volume de
exportaes chinesas se mostrou semelhante ao de um pas com um nvel de renda
per capita trs vezes maior do que o seu. O indicador apresentado por Schott (2008)
tambm observou que os segmentos exportados pela China tm se equiparado que-
les das economias mais desenvolvidas do mundo, por causa no apenas da dotao
de fatores, mas tambm pelo esforo interno de agregao de valor e tecnologia.
3
Efetivamente, j em 2007 as exportaes chinesas abrangiam quase todo o espec-
tro de produtos classifcados pelas estatsticas internacionais. Considerando-se a classi-
3. Sobre esse ponto ver Fontagn, Gaulier e Zignago (2008).
84 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
fcao do sistema harmonizado (SH), a seis dgitos, extrada de Baci,
4
a tabela 1 aponta
que, dos 5.017 produtos comercializados em nvel internacional, em 1990, 4.434 fo-
ram exportados pela China em comparao com 5.014 exportados pela UE-15.
TABELA 1
Sobreposio das exportaes chinesas com as da UE-15 1990-2007
(Anos selecionados)
1990 2000 2007
Quantidade de produtos exportados
UE-15 5.014 5.012 4.966
Frana 4.946 4.967 4.894
Alemanha 5.004 5.006 4.918
China 4.434 4.937 4.924
Sobreposio das exportaes chinesas
UE-15 (%) 88,4 98,5 98,9
Frana (%) 89,0 99,3 99,6
Alemanha (%) 88,4 98,6 99,3
Fonte: Baci.
Elaborao da autora.
Logo, a proporo de produtos exportados tanto pela UE-15 como
pela China foi de 88,4% em 1990. Esse percentual subiu para 98,5%
e 98,9%, respectivamente, em 2000 e 2007, especialmente devido ao
aumento de 11% no nmero de bens vendidos pela China ao longo do
perodo (de 4.434 para 4.924).
Surpreendentemente, a participao dos bens fabricados e comercializados
na UE-15 (intraUE-15), entre 1990 e 2007, sofreu somente um pequeno de-
clnio de 97% para 92%, mesmo levando-se em conta que as exportaes chi-
nesas para a UE-15, nesse perodo, quase dobraram de 2.619, em 1990, para
4.367, em 2007.
5
Desse modo, os produtos da Unio Europeia no pareceram ser
empurrados para fora dos seus mercados consumidores, apesar da concorrncia
acirrada dos produtos chineses.
4. Os dados sobre comrcio mundial do Baci, construdos com dados originais; do Comtrade, apresentam os uxos
de comrcio bilateral em nvel de produto de seis dgitos. O download est disponvel em: <http://www.cepii.fr/
anglaisgraph/bdd/baci.htm>. O uxo do conjunto de dados construdo utilizando um processo original que concilia
as declaraes de exportadores e importadores. O processo de harmonizao permite ampliar consideravelmente o n-
mero de pases para os quais esto disponveis dados do comrcio, em comparao com o conjunto de dados original.
5. Essa expanso das exportaes chinesas fez que o percentual importado pela UE-15 de todos os bens produzidos
pela China saltasse de 52%, em 1990, para 87%, em 2007.
85 A Ascenso Chinesa: implicaes para as economias da Europa
2.2 O debate em torno da qualidade
Como destacaram Fontagn, Gaulier e Zignago (2008), a crescente coexistncia
nos mercados de exportao dos produtos chineses e das economias mais desen-
volvidas, como as da Unio Europeia, deveu-se ao estabelecimento de um processo
denominado diferenciao vertical. Embora a China exportasse os mesmos produ-
tos que os pases mais ricos da Unio Europeia, esses bens apresentaram grandes
variaes em termos qualitativos, segundo as categorias estatsticas. A anlise da
variao de preos de exportao entre os pases e produtos, de acordo com o
conjunto de dados Baci, revelou que os bens manufaturados vendidos pela China
foram comercializados a um custo relativamente inferior se comparados aos pro-
dutos exportados pelos pases desenvolvidos, onde os salrios so mais elevados.
Seguindo a metodologia de Fontagn, Gaulier e Zignago (2008), procurou-
-se analisar a evoluo dos preos dos produtos da UE-15 e da China, a partir do
clculo da mediana geomtrica ponderada dos valores unitrios dos bens da UE-15
em relao aos da China nas mesmas posies geogrfcas e destinos das exporta-
es SH, a seis dgitos os pesos so as mdias simples das participaes do fuxo
de exportao no total das exportaes da UE-15 e China.
6
A mediana da distri-
buio dos preos da UE-15 relativos aos preos chineses foi de 1,71 em 2007.
Isso signifcou que os preos europeus foram 71% maiores do que os chineses na-
quele ano. Esse valor atingiu o patamar de 100% somente para os produtos france-
ses e de 117% para os alemes. Considerando-se apenas o mercado de importao
japons, os preos da UE-15 quando comparados aos da China foram 210% mais
caros. Uma exceo notvel foi o caso dos produtos txteis, para os quais a diferen-
a de preos entre os bens da UE-15 e da China se reduziram de 63%, em 1997,
para 55%, em 2007. No entanto, de modo geral, os valores assimtricos entre as
importaes produzidas na UE-15 e na China mantiveram-se praticamente est-
veis desde o fm dos anos 1990, confrmando a concluso de Fontagn, Gaulier e
Zignago (2008) de que o resultado de uma especializao em variedades distintas
de produtos defniu uma diviso de trabalho bem especfca entre as duas regies.
A existncia dessas grandes diferenas de preos indicou que a China e
a UE-15 no se posicionaram no mesmo segmento de mercado. Para que os
consumidores aceitassem arcar com os custos mais elevados dos produtos da
UE-15, estes ltimos necessitavam apresentar recursos mais avanados, ou
melhor qualidade em relao aos bens chineses. Entre estes, podem ser citadas:
design mais elegante, tecnologia mais sofsticada e acabamento superior. Em
resumo, a concorrncia tem se dado em nvel de variedades diferenciadas de
qualidade, e no apenas de produtos.
6. Calculamos a mediana ponderada de UVkEU-15,j/UVkChina,j onde j a direo da exportao. A varivel ponde-
rada w = 0.5*(VkEU-15,j + VkChina,j) onde VEU-15 e VChina so as exportaes totais da UE-15 e China e UV
expressa valores unitrios.
86 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
As implicaes resultantes desse cenrio se mostraram fundamentais para enten-
der o impacto social e econmico do crescimento chins sobre os pases da Europa.
Se as variedades exportadas pela China e pela Europa permanecessem diferentes a pon-
to de evitar uma concorrncia direta entre os produtos de ambas as regies, os trabalha-
dores europeus, como foi proposto por Schott (2008), no seriam afetados pelos baixos
salrios chineses. Ou seja, em geral, quanto menos substituveis fossem os bens chineses
e da Unio Europeia segundo seu nvel de sofsticao, mais fraca seria a relao entre os
preos de exportao e salrios e, em funo disso, menor o impacto da ascenso global
da estrutura produtiva chinesa sobre a base industrial da Unio Europeia.
As anlises realizadas em um nvel de produto altamente desagregado indicaram
que a Unio Europeia conseguiu sustentar sua posio no mercado internacional de
bens, a despeito da concorrncia estabelecida pelas economias emergentes como a Chi-
na. Dessa perspectiva, Cheptea et al. (2010) sugeriram que o volume de vendas dos
pases europeus, na realidade, tiveram um desempenho melhor do que o dos Estados
Unidos e do Japo, graas a uma posio reforada do segmento superior do mercado.
Conforme indicado na tabela 2, que reproduz os resultados de Cheptea et al. (2010),
a participao das exportaes dos pases europeus seja considerando a UE-25 ou a
UE-15 no comrcio internacional foi apenas ligeiramente afetada pela ascenso da China.
TABELA 2
Indicadores de participao nas exportaes mundiais por regies e pases selecio-
nados 1994-2007
(Anos selecionados)
Participao no mercado mundial de
exportaes (%)
Variao da participao (p.p.)
1994 2000 2007 1994-2007 1994-2000 2000-2007
UE-25 excluindo comrcio intraUE 19,7 18,1 19,3 -0,34 -1,58 1,23
UE-15 excluindo comrcio intraUE 19,1 17,5 18,0 -1,06 -1,62 0,56
Alemanha 5,5 4,7 5,5 0,02 -0,82 0,85
Frana 2,8 2,4 2,3 -0,49 -0,36 -0,12
Reino Unido 2,9 2,6 2,0 -0,89 -0,28 -0,61
Estados Unidos 18,5 18,3 12,5 -5,97 -0,23 -5,74
Japo 14,8 11,7 8,6 -6,23 -3,12 -3,11
China 5,8 8,0 16,1 10,26 2,17 8,09
ndia 1,0 1,1 1,7 0,61 0,09 0,51
Brasil 1,5 1,3 1,6 0,1 -0,27 0,37
Fonte: Cheptea et al. (2010).
87 A Ascenso Chinesa: implicaes para as economias da Europa
Entre 1994 e 2007, o crescimento da participao mundial das exportaes
chinesas, que aumentou 10 p.p., impulsionou o pas condio de principal
exportador global, ultrapassando os Estados Unidos. Apesar disso, ao longo da
dcada de 2000, quando a presso concorrencial chinesa se intensifcou, os pases
europeus foram capazes de reforarem sua presena no mercado mundial de ex-
portaes, ampliando seu percentual em mais de 1 p.p., enquanto Japo e Estados
Unidos perderam, respectivamente, 3 p.p. e 6 p.p.
No entanto, como mostra a tabela 3, o desempenho na Unio Europeia foi
relativamente assimtrico, uma vez que, por um lado, o crescimento observado na
regio se deveu principalmente Alemanha e, por outro, as exportaes de Frana
e Reino Unido tiveram perda de participao no mercado global.
No perodo 2000-2007, por exemplo, grande parte (69%) dos ganhos registra-
dos pela UE-25 respondeu acelerada expanso da capacidade exportadora alem.
Alm disso, a evoluo da participao dos pases variou consideravelmente tambm
entre os setores e a qualidade dos produtos. Segundo a sistematizao da tabela 3
que partiu dos clculos realizados por Cheptea et al. (2010) sobre a evoluo das par-
ticipaes de mercado nas exportaes mundiais diferenciadas por nvel de tecnologia
e qualidade , foram identifcados trs segmentos qualitativos de mercado: i) superior;
ii)intermedirio; e iii) inferior, com base nos ndices de valor unitrio relativos.
TABELA 3
Evoluo da participao nas exportaes mundiais segundo o segmento de mercado
1994-2007
Produtos high-tech Superior Intermediria Inferior
2007 1994-2007 2007 1994-2007 2007 1994-2007 2007 1994-2007
(%) (p.p.)
1
(%) (p.p.) (%) (p.p.) (%) (p.p.)
UE-15 16,9 0,81 28,8 0,83 16,8 -1,51 16,1 0,25
UE-25 15,7 -0,02 27,5 -0,16 15,6 -2,18 14,6 -0,24
Estados
Unidos 13,7 -11,15 13,5 -6,00 13,5 -3,20 10,5 -5,39
Japo 8,0 -12,68 9,8 -9,76 8,0 -10,79 8,5 -1,34
China 21,2 17,79 7,6 5,94 15,5 11,37 22,9 10,67
ndia 0,6 0,39 1,0 0,52 1,9 1,00 1,9 0,50
Rssia 0,4 0,14 0,9 0,59 2,0 0,90 1,5 0,22
Brasil 0,6 0,32 0,9 0,12 2,1 -0,20 1,7 -0,19
Fonte: Cheptea et al. (2010).
Nota:
1
Variaes em pontos percentuais.
88 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
Em primeiro lugar, observou-se que a elevada participao dos produtos de
alta tecnologia nas exportaes chinesas (21,2%), em 2007, esteve concentrada
no segmento inferior de mercado, confrmando a hiptese de que a especializao
da China tem ocorrido nos setores intensivos em tecnologia de baixa qualidade.
Enquanto o crescimento da participao das exportaes chinesas no segmento
superior de mercado foi de apenas 5,9 p.p. (alcanando 7,6%, em 2007),
nos dois segmentos inferiores o aumento foi de 22 p.p. (atingindo 15,5% no
segmento intermedirio e 22,9% no inferior, em 2007). Em segundo lugar, os
pases europeus se destacaram pelo seu posicionamento no segmento superior
de mercado. Em 2007, as exportaes da UE-15 nos setores de alta qualidade
foram quase duas vezes superiores s dos segmentos intermedirio ou inferior.
Embora este padro fosse semelhante ao do Japo, ele se diferiu ao verifcado
nos Estados Unidos, onde os segmentos intermedirios e superiores de mercado
tiveram participao muito prxima em torno de 13%. Ademais, ao contrrio
do Japo e dos Estados Unidos, a participao da UE-15 em produtos de alta
qualidade permaneceu relativamente estvel entre 1994 e 2007. Em comparao
com a UE-15, os resultados da UE-25 foram ainda mais exitosos, uma vez que,
entre 1994 e 2007, a participao de suas exportaes tanto em produtos de alta
tecnologia, como em produtos do segmento superior de mercado se expandiu
0,8 p.p.. O melhor desempenho da UE-25 em relao UE-15 foi interpretado
por Fontagn (2009) como resultado da terceirizao intra Unio Europeia, ou
melhor, da realocao de produo intra Unio Europeia (MARIN, 2006).
Em termos gerais, o desempenho da Unio Europeia pareceu satisfat-
rio, levando-se em conta a presso de novos concorrentes, como China e ndia.
Esse fato foi confrmado por Cheptea et al. (2010). Eles investigaram a evoluo
na composio do mercado global de exportaes a partir tanto das mudanas
estruturais devido ao posicionamento setorial e geogrfco dos exportadores ,
como de competitividade. Mesmo que as transformaes promovidas pelos as-
pectos estruturais, ao longo do perodo 1994-2007, tivessem contribudo para o
crescimento das exportaes dos pases desenvolvidos (Estados Unidos, Japo e
Unio Europeia), foi o efeito competitividade o responsvel pelas principais alte-
raes nesse perodo, principalmente no que diz respeito aos pases em desenvol-
vimento, como a China e o Brasil.
7
Apesar disso, a indstria da Unio Europeia
conseguiu se manter relativamente dinmica nesse cenrio.
As concluses do estudo foram de que as participaesnorte-americanas
e japonesas nas exportaes mundiais diminuram no perodo, enquanto
o percentual detido pela China aumentou e o da Unio Europeia fcou
7. Ainda que nesses pases os efeitos estruturais tivessem impacto de modo negativo para a expanso de suas par-
ticipaes nos mercados exportadores, estes foram progressivamente ultrapassados por efeitos inversos da competi-
tividade.
89 A Ascenso Chinesa: implicaes para as economias da Europa
relativamente estvel. Embora na mdia a Unio Europeia tivesse perdido
competitividade embora em menor grau se comparada com os Estados Unidos
e Japo , essa foi compensada pelos efeitos estruturais, principalmente por
uma reorientao setorial de suas exportaes direcionada para produtos que
apresentavam uma crescente demanda mundial, notadamente de segmentos
intensivos em tecnologia. Em suma, a melhor capacidade da Unio Europeia,
em relao ao Japo e aos Estados Unidos, de resistir concorrncia dos grandes
comerciantes emergentes no se deveu apenas a um desempenho exportador
superior relativo, mas tambm a uma especializao mais acentuada em bens
com demandas de importao em expanso.
Quando comparados somente com os Estados Unidos, a Unio Europeia
seja a UE-15, seja a UE-25 foi a regio que se mostrou apta a ampliar sua
participao nos segmentos mais qualifcados na cadeia de alta tecnologia,
entre 1994 e 2007. Enquanto o percentual das exportaes do Japo e dos
Estados Unidos nos segmentos superiores de mercado se reduziu, respectiva-
mente, 6 p.p. e quase 10 p.p., o da UE-25 cresceu 0,8 p.p. Desse modo, a
Unio Europeia tem resistido melhor concorrncia dos pases emergentes do
que outros pases desenvolvidos, por conta de um melhor posicionamento no
mercado de alta tecnologia. Todavia, esse resultado se deveu principalmente
atuao da Alemanha, como se observa na subseo 2.3 que compara o de-
sempenho deste pas com a Frana.
2.3 A comparao entre Frana e Alemanha
Como destacado na tabela 2, houve um forte contraste entre o desempenho da
Alemanha, maior exportadora da Unio Europeia (responsvel por 5,5% dos
18% da participao de mercado mundial da UE, em 2007), e da Frana, cujos
valores totais de exportaes foram duas vezes menores. Entre 1994 e 2007, em
meio a fortes presses competitivas impostas pelas economias de baixos salrios,
como a China, a Alemanha sustentou sua posio no mercado mundial de expor-
taes chegando a recuperar espao entre 2000 e 2007 , enquanto a Frana
perdeu participao de forma contnua.
O grfco 2 mostra claramente que, at o fm da dcada de 1990, Frana
e Alemanha alcanaram desempenhos semelhantes de exportao. Desde en-
to, a Alemanha tem superado a Frana e o restante da OCDE. Este cenrio
diferenciado no foi explicado pela adoo das polticas cambiais ou mone-
trias distintas, uma vez que ambos os pases aderiram ao euro como moeda
nica e possuem polticas monetrias similares, mas sim pelos locais de desti-
nos de suas exportaes, bem como pelo segmento de mercado que ocuparam
em termos de qualidade.
90 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
GRFICO 2
Participao nas exportaes mundiais na OCDE 1991-2009 (1990 = 100)
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Demais pases da OCDE Frana Alemanha
Fonte: Chelem Database. Disponvel em: <http://chelem.bvdep.com>.
Elaborao da autora.
Embora Frana e Alemanha tivessem a mesma especializao em nvel do produ-
to a sobreposio entre os produtos exportados pelos dois pases de quase 100% ,
as exportaes dos dois pases se dirigiram para diferentes mercados. A probabilidade
mdia de um exportador francs concorrer com um exportador alemo vendendo o
mesmo produto, do SH a seis dgitos, no mesmo mercado era de aproximadamente
70% em 2007. Alm disso, notou-se que naquele mesmo ano, a exemplo dos an-
teriores, comparando-se com a China, a Alemanha conseguiu exportar um nmero
maior de produtos classifcados no SH a seis dgitos do que a Frana. Esse tipo de
indicador foi denominado por Fontagn e Gaulier chamaram de elementary markets.
8
Ao lado desse aspecto, os pases de destino das exportaes alems foram, em
mdia, para mercados mais dinmicos (FONTAGN; GAULIER, 2008). A di-
ferenciao de custos dos produtos mais sofsticados exportados pelas duas naes
mostrou que a Alemanha conseguiu ter maior vantagem comparativa em relao
Frana no segmento superior de mercado. Isso se deveu tambm a outros dois fato-
res complementares. Primeiro, refetiu a percepo alem de que a competitividade
dos seus produtos no mundo, em comparao com os produtos franceses, deveu-se
aos aspectos qualitativos, como inovao tecnolgica, e no relacionados ao preo.
8. Esse indicador (elementary markets) tem como objetivo mensurar a sobreposio da pauta de exportaes de dois
pases. Em vez de contar o nmero de produtos similares exportados pelos dois pases (isto , o nmero de produtos
que exportam ambos os pases), esse indicador calcula a sobreposio das exportaes para um dado par produto-
-pas. Isto , mensura-se o valor ou a quantidade dos mesmos bens exportados para um mesmo destino em ambos
os pases.
91 A Ascenso Chinesa: implicaes para as economias da Europa
O segundo fator essencial foi a terceirizao, principalmente na produo de bens
intermedirios que eram produzidos a custos menores nos novos pases-membros da
Unio Europeia (FONTAGN, 2009). Curran e Zignago (2009) salientaram que
a maior integrao da estrutura industrial alem em uma base europeia expandida e
a reformulao dos processos de produo para promover o reposicionamento dos
segmentos superiores de mercado tm sido fundamentais para preservar a competi-
tividade.
No foi por outra razo que para os mesmos elemantary markets da China,
as exportaes da Alemanha, quando comparadas com as francesas, foram bem
mais elevadas, principalmente para aqueles produtos com preos mais elevados
do que os chineses. Como aponta o grfco 3, em 2007, as exportaes alems
para elementary markets na categoria III somaram um total de US$ 446 milhes,
enquanto que na Frana atingiram um valor de somente US$ 170 milhes.
Foram esses aspectos que possibilitaram s exportaes alems resistirem presso
competitiva de um pas como a China.
9
GRFICO 3
Exportaes de Alemanha e Frana para os mesmos elementary markets da China,
classicao segundo as categorias de produtos 1990 e 2007
(Em US$ milhes)
0 200 400 600 800 1000 1200
Alemanha (1990)
Alemanha (2007)
Frana (1990)
Frana (2007)
II III Indenido I
1
2
7
1
7
0
3
6
8
4
4
6
1
2
4
1
0
2
2
6
1
0
Fonte: Clculos dos autores baseado no sistema Baci.
Obs.: A comparao das exportaes alems e francesas com as chinesas, nesses elementary markets, foi feita a partir de
trs categorias de produtos. A primeira (I) com os bens cujo preo nos pases europeus era inferior a 75% do preo chins.
A segunda (II) com os bens cujo preo nos pases europeus cava em uma faixa de 75%-125% do preo chins e a terceira
(III) com bens cujo preo nos pases europeus era superior a 125% do preo chins.
9. Como indicaram Fontagn e Gaulier (2008), no segmento de alta tecnologia, entre 1995 e 2005, a Alemanha foi
capaz de aumentar sua participao no mercado mundial (de 8% para 8,2%) em contrapartida de um declnio acentu-
ado registrado pela Frana (de 6,6% para 4,9%). Para os autores, a Alemanha se consolidou como grande produtor de
alta tecnologia, detendo posies bem slidas nesses mercados mais sosticados, enquanto a Frana se caracterizou
por assumir posies muito frgeis.
92 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
Em que pese esse aspecto, os pases europeus tambm puderam suportar a
concorrncia chinesa em razo do elevado contedo importado e da elevada par-
ticipao das empresas estrangeiras nas exportaes produzidas pelo pas asitico.
Essa questo aprofundada na subseo 2.4.
2.4 A composio das exportaes chinesas
Desde que se tornou um grande exportador a nvel global, a China se desta-
cou pelo grande volume de exportaes processadas com o apoio do capital
estrangeiro.
10
Em outras palavras, uma parcela significativa das vendas chi-
nesas para o exterior foi resultado da montagem de produtos por empresas
transnacionais e/ou joint ventures a partir da importao de insumos e m-
quinas nos seus pases de origem. Como consequncia desse movimento,
cerca de 60% das exportaes chinesas atualmente tm sido produzidas por
FIE. Isso significou que o valor adicionado economia chinesa, por meio
desse tipo de exportao, foi bastante modesto.
O importante papel das empresas estrangeiras na produo e nas ex-
portaes da China respondeu s polticas proativas elaboradas pelas auto-
ridades nacionais e locais a fim de atrair os fluxos de IDE. A China decidiu
absorver o investimento estrangeiro em 1978 ao romper com a ortodoxia
socialista, estabelecendo as zonas econmicas especiais (ZEEs), em 1979
e 1980. Essas ZEEs ficaram responsveis por concentrar a maior parte do
IDE, a partir da implementao de uma legislao e de um conjunto de po-
lticas econmicas especficas para essas regies. Apesar disso, o impacto do
IDE foi moderado at o incio da dcada de 1990. Como mostra o grfico
4, somente a partir de 1992-1993 foram atrados grandes volumes de IDE
em razo das polticas de incentivos a projetos com investimento estrangei-
ro envolvendo setores de maior contedo tecnolgico e mais intensivos em
capital (FUNG; IIZAKA; TONG, 2004).
10. Os termos comrcio de processados ou montagem so usados indistintamente para se referir s operaes
das empresas que importam insumos a m de mont-los na China e reexportar os produtos acabados.
93 A Ascenso Chinesa: implicaes para as economias da Europa
GRFICO 4
Indicadores selecionados do IDE recebido pela China 1984-2008
(Em %)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
U
S
$
b
i
l
h
e
s
0,0
0,3
0,6
0,9
1,2
1,5
1,8
2,1
2,4
2,7
3,0
Fluxos de IDE recebidos Participao da China no estoque de IDE global
Fonte: Ministry of Commerce of China.
Elaborao da autora.
Esse boom de IDE somente foi possvel, em meados dos anos 1990, porque o
governo chins determinou um novo aparato regulatrio e provises favorveis en-
trada de IDE, especialmente de joint ventures orientadas para a exportao e que em-
pregavam tecnologias mais avanadas. As empresas estrangeiras receberam tratamento
fscal privilegiado, a liberdade de importao de partes e componentes, como insumos
e equipamentos, o direito de reter e trocar moedas, e os procedimentos simplifcados
de licenciamento. As autoridades tambm procuraram garantir um ambiente favor-
vel para empresas estrangeiras, protegendo-as contra interferncias externas burocrti-
cas e concedendo acesso privilegiado s fontes de gua, eletricidade e transporte pelo
mesmo preo pago pelas empresas estatais , bem como permitindo melhores condi-
es de fnanciamento por meio de emprstimos com juros praticamente inexistentes.
Ademais, nesse perodo, as polticas governamentais comearam a focar suas
diretrizes na articulao setorial e geogrfca do IDE com os objetivos da indstria
nacional. O processo de exame e aprovao dos projetos de IDE foi classifcado
em quatro categorias: incentivados, restritos, proibidos e permitidos. Os projetos
mais incentivados, que recebiam amplos subsdios fscais e fnanceiros, foram os
das seguintes reas: agricultura, energia, transportes, telecomunicaes, matrias-
-primas bsicas e indstrias de alta tecnologia. Alm dos setores em que a pro-
duo excedia a demanda interna, as restries foram feitas a projetos nos setores
de baixa tecnologia e naqueles que estavam sob regime de monoplio estatal,
geralmente em recursos minerais valiosos. Quanto distribuio geogrfca do
IDE, os projetos nas regies central e noroeste receberam incentivos vigorosos.
94 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
Como resultado desse forte direcionamento na entrada do IDE, em conformi-
dade com os objetivos industriais nacionais, a China conseguiu coordenar o desen-
volvimento da indstria nacional com a expanso da entrada do capital estrangeiro
(NAUGHTON, 2007). Em funo disso, uma parcela importante dos fuxos de
entrada de IDE absorvidos pela China foi dirigida para o setor de manufatura e no
de servios ou extrao de recursos. Alm disso, a maioria desses investimentos se
originou de regies prximas, como Hong Kong, Taiwan e Macau, onde existiam
grandes centros produtivos e/ou especializados em servios fnanceiros. Isso reve-
lou que a integrao produtiva do Leste Asitico assumiu grande importncia para
impulsionar a entrada do IDE na China. Como mostra a tabela 4, Hong Kong se
caracterizou, indiscutivelmente, no maior investidor na China, representando 42%
do total acumulado desde 1985. Os pases europeus alcanaram uma participao
marginal, pois responderam por 6% do total dos fuxos de entrada em 2009 contra
12% em 2000.
11
As trs principais economias europeias (Alemanha, Reino Unido e
Frana) tiveram um percentual similar a 1% dos ingressos anuais de IDE na China.
TABELA 4
Distribuio geogrca do IDE recebido pela China 1995-2009
(Em US$ milhes)
1995 2000 2005 2009
Total 37.806 40.715 60.325 90.033
sia 31.100 25.482 35.719 60.623
Hong Kong 20.185 15.500 17.949 46.075
Macau 440 347 600 815
Taiwan 3.165 2.297 2.152 1.881
Japo 3.212 2.916 6.530 4.105
Coreia do Sul 1.047 1.490 5.168 2.700
frica 13 288 1.071 1.310
Europa 2.323 4.765 5.643 5.518
Reino Unido 915 1.164 965 679
Alemanha 391 1.041 1.530 1.217
Frana 288 853 615 654
11. O papel dominante de Hong Kong levanta a questo do round tripping, que se refere ao investimento nacional na
China (continente) que direcionado principalmente para Hong Kong e reencaminhado ao continente para tirar pro-
veito de polticas preferenciais disponveis apenas para os investidores estrangeiros. Aps a sua adeso Organizao
Mundial do Comrcio (OMC), em 2001, a China eliminou muito dos incentivos, mas ainda h diferenas de tratamento
entre investidores nacionais e estrangeiros. Por exemplo, o imposto sobre pessoas jurdicas ainda cobrado em taxas
mais baixas das empresas transnacionais do que das empresas nacionais (normalmente 5%-13% para as primeiras,
em comparao com 25% para as ltimas). Ver UNCTAD (2006).
(Continua)
95 A Ascenso Chinesa: implicaes para as economias da Europa
1995 2000 2005 2009
Itlia 270 210 322 352
Holanda 114 789 1.044 741
Amrica Latina 340 4.617 11.293 14.684
Ilhas Cayman nd 624 1.948 2.582
Ilhas Virgens 304 3.833 9.022 11.299
Amrica do Norte 3.510 4.786 3.730 3.677
Estados Unidos 3.084 4.384 3.061 2.555
Oceania 253 694 1.999 2.529
Fonte: Ministry of Commerce of China.
Obs.: nd = no disponvel.
Como observado, a poltica de atrao do IDE foi articulada tanto
expanso do comrcio exterior da China, como tambm maior participao
chinesa nas cadeias globais de produo dos setores mais dinmicos da eco-
nomia internacional. De acordo com a OCDE (2000), as FIE se mostraram
fundamentais para a modificao da estrutura industrial da China, para a di-
versificao das exportaes, que at meados dos anos 1990 eram concentra-
das em bens intensivos em mo de obra intensiva, e para permitir o acesso da
China aos mercados em rpida expanso.
12
Por conta desses aspectos, o IDE
se tornou um fator-chave por trs da sofisticao das exportaes chinesas.
Conforme j apresentado, a emergncia da China foi impressionante
no apenas pelo rpido crescimento do PIB mais de 10% anual desde
meados da dcada de 1980 e do comrcio, mas tambm por causa da
presena de produtos chineses em toda a gama de produtos manufaturados,
inclusive aqueles tradicionalmente exportados por pases muito mais ricos.
Esta progressiva aproximao da pauta de exportao chinesa com a dos
pases com nveis de renda per capita trs vezes maior permitiu China
avanar tecnologicamente na cadeia global de produo (RODRIK, 2006;
SCHOTT, 2008).
Apesar disso, vrios estudos tm afirmado que essa capacidade intrn-
seca da China para produzir bens sofisticados foi supervalorizada. Isso por-
que o processamento de exportaes foi responsvel por grande parte dessa
12. Uma especicidade importante das FIE foi sua capacidade de, a partir do IDE, incorporar muito mais equipamentos
e disseminar o conhecimento de tecnologia nos pas asitico. Nesse sentido, alguns trabalhos concluram que houve
maior ecincia alocativa e tcnica na utilizao do trabalho na produo das FIE em comparao com as empresas
nacionais. Entre outros aspectos, isso se explicou pelo fato de as FIE estarem relativamente mais concentradas em
segmentos recm-desenvolvidos e de rpido crescimento, como equipamentos eletrnicos e de telecomunicaes,
enquanto as empresas nacionais se basearam mais nos segmentos bsicos de capital intensivo e em larga escala.
(Continuao)
96 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
ascenso chinesa, j que muitos dos bens de alta tecnologia exportados pelo
pas tm sido produzidos, com insumos importados, a partir da montagem
de bens intensivos em mo de obra. Com efeito, a sofisticao dessas ex-
portaes se deveu, em grande medida, tecnologia embutida nos insumos
importados, e no necessariamente a um grau maior de complexidade ou
tecnologia no processo de montagem chins. Alm disso, outra parcela con-
sidervel das exportaes de alta tecnologia teve origem nas empresas de
controle parcial ou total estrangeiro principalmente no setor do comrcio
de montagem. Por essa razo, alguns autores investigaram se a modernizao
observada das exportaes chinesas refletiu a adoo real de tecnologia em
nvel local (AMITI; FREUND, 2010; LARDY, 2005). Em 2007, a parti-
cipao das exportaes chinesas no comrcio de processados foi de 54% e
para as exportaes de alta tecnologia esse percentual foi de 85%. As ativida-
des de comrcio de processamento tambm foram dominadas por entidades
estrangeiras: em 2007, 82% das exportaes de comrcio de processados e
91% das exportaes de comrcio de processados de alta tecnologia se origi-
naram de empresas estrangeiras.
Ao considerar a evoluo da participao de produtos de alta tecnolo-
gia nas exportaes chinesas ao longo do tempo, notou-se que a moderniza-
o recente das exportaes da China respondeu em grande medida atua-
o das corporaes estrangeiras que normalmente atuam no comrcio de
processados. De acordo com o grfico 5, o percentual de produtos de alta
tecnologia para as exportaes de empresas nacionais aumentou somente 4
pontos percentuais (de 8,5% para 12,8%), enquanto para as empresas es-
trangeiras o percentual praticamente dobrou (de 26,1% para 48,9%) entre
1997 e 2007. Jarreau e Poncet (2011) apontaram que os ganhos tpicos
em termos de valor agregado associados ao aumento da sofisticao de
exportao foram limitados na China s atividades de exportao comuns
realizadas por empresas nacionais. Isto , nenhum ganho direto foi extrado
das atividades comerciais de processamento ou de empresas estrangeiras,
mesmo que estas fossem os principais contribuintes para a melhoria global
das exportaes da China.
97 A Ascenso Chinesa: implicaes para as economias da Europa
GRFICO 5
Participao das exportaes chinesas de alta tecnologia por tipo de empresa
1997-2007
(Em %)
1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Empresas nacionais Empresas estrangeiras Todas as empresas
Fonte: Ministry of Commerce of China.
Nota:
1
Clculos dos autores.
O estudo de Koopman, Wang e Wei (2008), cuja anlise partiu de uma
frmula geral para calcular os componentes nacionais e estrangeiros nas expor-
taes do comrcio de processados, concluiu que a participao estrangeira de
valor agregado nas exportaes chinesas foi de cerca de 50%, muito superior do
que na maioria dos outros pases. Esta participao tem se mantido relativamente
constante ao longo dos ltimos anos, embora a migrao da indstria de compo-
nentes eletrnicos para a China levou a maioria dos observadores a esperar que o
valor agregado no setor de exportao da China estaria aumentando ao longo do
tempo. Efetivamente, o contedo estrangeiro tem sido maior em setores mais so-
fsticados, como o de aparelhos eletrnicos e equipamentos de telecomunicaes
(cerca de 80%). Tanto Van Assche e Gangnes (2010) como Yao (2009) argumen-
taram que, levando-se em conta o regime comercial de processados da China, a
composio das exportaes chinesas no foi muito diferente da de outros pases
com nveis semelhantes de desenvolvimento.
O mouse de computador made in China produzido em Suzhou pela
Logitech International S/A, uma empresa suo-americana, foi um exemplo do
argumento de que as exportaes chinesas no so to chinesas. Conforme rela-
tado pelo Wall Street Journal, em 2004, do preo fnal de venda de US$ 40,00, a
Logitech fcava com cerca de US$ 8,00, enquanto aos distribuidores e varejistas
cabia US$ 15,00. Aps a contabilizao de mais US$ 14,00 que iam para os for-
necedores estrangeiros das peas de Wanda, o que cabia China de cada mouse,
98 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
para arcar com os custos produtivos (salrios, infraestrutura etc.), era equiva-
lente a apenas US$ 3,00. No caso dos produtos made in China que chegam
aos consumidores fnais na Europa, o resultado para a China foi sem dvida o
mesmo. Assim, a maior parte da riqueza gerada pelas exportaes chinesas foi
apropriada pelos estrangeiros, em especial para os bens mais sofsticados.
Em suma, observou-se ao longo dessa seo que a emergncia da China
nas cadeias produtivas e no comrcio mundial no representou necessariamen-
te um declnio das exportaes europeias, uma vez que eles no esto compe-
tindo diretamente com as indstrias. No entanto, isso somente foi possvel em
funo da capacidade de a indstria da Europa subir a escada da qualidade.
Nesse sentido, a busca pela especializao em produtos de maior qualidade
do setor de alta tecnologia se deveu ao fato de estes estarem menos expostos
s exportaes chinesas. A histria de sucesso da Alemanha mostrou, por um
lado, a importncia de focar nas atividades de mais alta qualidade e, por outro,
a possibilidade de intensifcar esse processo aproveitando o desenvolvimento
do comrcio de produtos intermedirios, fabricados em localidades de preos
baixos, como nos novos Estados-membros da Unio Europeia ou mesmo na
China. Alm disso, destacou-se que o melhor posicionamento da China no
comrcio internacional respondeu, em grande parte, pela atuao das empresas
estrangeiras no mercado chins. Com efeito, a ascenso chinesa tanto no teve
grandes efeitos negativos para o comrcio europeu, como abriu um espao
para suas empresas otimizarem sua produo.
Todavia, muitos analistas tm questionado que a crescente ocupao chinesa
na indstria e no comrcio global poderia ter fortes repercusses no mercado de
trabalho europeu. Partindo dessa constatao, a seo 3 deste artigo se volta para
as consequncias econmicas e sociais da transferncia de cadeias produtivas da
Europa para terceiros pases, com destaque para a China.
3 OS EFEITOS SOCIAIS E ECONMICOS DA TRANSFERNCIA PRODUTIVA
PARA OS PASES COM BAIXOS SALRIOS
O deslocamento da produo (terceirizao) no teve grande impacto direto
sobre as economias europeias.
13
Ainda que parte importante da sociedade ti-
vesse responsabilizado o acirramento da concorrncia imposta por pases com
baixos salrios, como a China, no somente pela transferncia inexorvel da
13. Assim, estritamente falando, a terceirizao pode ser denida como a transferncia de uma fbrica para o exterior
primeiro, fechar a fbrica no pas de origem e, em seguida, abri-la no exterior , de onde ela produz para vender lo-
calmente deslocando exportaes nacionais anteriores ou para exportar de volta ao pas de origem (importao).
No entanto, de uma forma menos rigorosa, ela pode corresponder a qualquer deciso de instalar parte do processo de
produo no exterior, em pases com baixos salrios, e em uma modalidade ainda mais exvel, meramente importar
de pases com baixos salrios.
99 A Ascenso Chinesa: implicaes para as economias da Europa
produo para essas regies, mas tambm por reduzir os postos de trabalho
nos pases desenvolvidos, vrios analistas tm expressado uma viso contrria.
Eles argumentaram que, embora os custos fossem importantes, outros de-
terminantes da transferncia, como acesso ao mercado, qualidade e presena
de fatores de produo complementares (infraestrutura, instituies e fora
de trabalho), favoreceram os pases desenvolvidos. Nesse sentido, observou-
-se um nmero crescente de empresas chinesas investindo em pases europeus
(FONTAGN; PY, 2010). O deslocamento produtivo ainda benefciou as em-
presas da Unio Europeia com menor participao sobre o mercado de trabalho.
A literatura existente sugere que a terceirizao tem impacto limitado sobre o
emprego domstico nas economias desenvolvidas.
Partindo das contradies que envolvem o debate em torno dos efeitos eco-
nmicos e sociais causados pela transferncia produtiva da Europa para os pases
com baixos salrios, esta seo busca esclarecer e apontar os principais aspectos
que tratam dessa temtica. Para isso, nas subsees 3.1 e 3.2, discutem-se os im-
pactos no emprego europeu, tendo em vista as mudanas nos fuxos de comrcio
exterior e de IDE resultantes da terceirizao de atividades produtivas da Europa.
Na subseo 3.3, analisam-se os benefcios sociais e econmicos que emergiram
com o acirramento da concorrncia de pases com baixos salrios.
3.1 O impacto no emprego europeu oriundo do comrcio com os pases
com baixos salrios
As avaliaes realizadas sobre a perda de postos de trabalho em virtude da ter-
ceirizao da produo europeia apresentaram diferentes elementos empricos
e delimitaes do fenmeno estudado. Fontagn e Lorenzi (2005) fzeram
um levantamento bastante extenso da literatura, recentemente atualizado em
Fontagn e Toubal (2010).
Uma abordagem bastante direta das atividades de relocalizao produtiva
foi proposta pelo European Monitoring Center on Change,
14
rgo que monito-
ra a extenso das atividades de reestruturao econmica na Europa desde 2002.
O relatrio European Restructuring Monitor (ERM) (2007) concluiu que a
escala de relocalizao foi menor do que poderia ser esperado e, at o mo-
mento, no foi apresentada nenhuma tendncia de crescimento. Entre 2003 e
2006, o relatrio constatou que, dos quase 3.500 casos de reestruturao que
envolveram perdas de postos de trabalho cerca de 2,5 milhes de empregos
nos Estados-membros da Unio Europeia, apenas uma proporo relativamente
pequena mximo de 10% dos casos e 8% dos cortes nos postos de trabalho
decorreu da transferncia das estruturas de produo. Esse nmero foi ainda
14. Para uma discusso, ver <http://www.eurofound.europa.eu>.
100 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
menor no binio 2008-2009, quando as perdas de emprego em razo da trans-
ferncia produtiva representaram somente 3%. Para o relatrio, a reduo da
fora de trabalho esteve ligada a outros aspectos, como a reorganizao interna,
o fechamento de fbricas e fuses. No entanto, essas estimativas provavelmen-
te subestimaram as perdas de emprego por dois motivos. Em primeiro lugar,
estiveram baseadas em pesquisas restritas a locais de trabalho, com pelo menos
250 funcionrios, que sofreram a criao ou eliminao de, pelo menos, 100
postos de trabalhos brutos. Em segundo lugar, no identifcaram se a rees-
truturao interna, as falncias e as fuses (e, portanto, as perdas de emprego
relacionadas) foram efetivamente por causa do aumento da concorrncia inter-
nacional e, especialmente, dos pases com baixos salrios.
Dois estudos realizados sobre o contexto francs (AUBERT; SILLARD,
2005; BARLET et al., 2007) resolveram, em parte, esses problemas ao se con-
centrarem nas presumptions of relocation, casos em que uma empresa fecha uma
fbrica ou reduz signifcativamente seu nmero de funcionrios, durante um
curto perodo de tempo (pelo menos 25% de declnio dos empregos durante
3 anos), e simultaneamente aumenta suas importaes da mesma categoria de
bens que eram antes produzidos na unidade local. Esta abordagem conseguiu
identifcar casos de substituio da produo domstica em uma subsidiria es-
trangeira ou subcontratada no exterior. Segundo as estimativas desses estudos,
13 mil postos de trabalho foram eliminados anualmente, entre 1995 e 1999,
dos quais cinco mil na direo dos pases com baixos salrios. Esses nmeros
foram relativamente pequenos, especialmente quando comparados com a eli-
minao anual de postos de trabalho brutos na Frana
15
(cerca de 1 milho)
e com a reduo mdia anual de empregos industriais ao longo do perodo
1980-2000 (por volta de 70 mil).
Apesar disso, recentemente observou-se um aumento da gerao de em-
pregos no exterior em razo da exportao de cadeias produtivas. Entre 2000
e 2003, o nmero de postos de trabalho resultante da relocalizao aumentou
para 15 mil por ano. Ademais, nesse perodo, a proporo de trabalhadores
terceirizados nos mercados emergentes se ampliou acentuadamente, saltando
de 37% em 2000 para 57% em 2003 ao todo, foram eliminados anualmente
8.550 postos de trabalho entre 2000 e 2003. Esse processo foi capitaneado pela
China, que absorveu 48% dos empregos terceirizados gerados nos pases com
baixos salrios. Apesar da criao acelerada de postos de trabalho terceirizados
na China, cuja expanso anual foi de 4.114 nesse perodo, os impactos desse
fenmeno foram bastante limitados.
15. Para cada 100 empregos na economia francesa, h cerca de sete empregos criados e sete eliminados por ano, que
representam pouco mais de 1 milho de postos de trabalho criados e destrudos anualmente.
101 A Ascenso Chinesa: implicaes para as economias da Europa
Nesse sentido, o declnio acentuado do emprego industrial nos pases eu-
ropeus, que representou a eliminao de 11 milhes de postos de trabalho, en-
tre 2000 e 2007,
16
foi resultado de uma conjuno de fatores, alm do prprio
acirramento da concorrncia internacional. Dois destes fatores se destacaram, a
saber: i) a transferncia intersetorial de algumas atividades industriais para o setor
de servios nos prprios pases; e ii) a realocao estrutural da demanda entre os
diferentes setores da economia.
3.1.1 Os fatores explicativos da reduo do emprego industrial europeu
O primeiro fator que impulsionou a minorao do emprego industrial respon-
deu crescente terceirizao de uma srie de atividades, como limpeza, logsti-
ca, contabilidade, entre outros, pelas indstrias europeias. Anteriormente, essas
corporaes eram responsveis pela contratao de pessoal para realizao das
atividades mencionadas anteriormente. No entanto, a fm de reduzir custos
operacionais, essas atividades foram progressivamente terceirizadas para empre-
sas especializadas em servios no prprio pas. Esta terceirizao domstica
fez que atividades antes classifcadas como do setor industrial passassem a ser
consideradas do setor de servios.
Esse movimento causou uma reduo artifcial do emprego industrial.
Uma estimativa recente para o caso francs mostrou que a reclassifcao dos
postos de trabalho foi responsvel por cerca de 25% das perdas de emprego in-
dustrial entre 1980 e 2007. Com efeito, a eliminao efetiva dos empregos
manufatureiros representaria em torno de 75% dos dados divulgados. Entre 1980
e 2007, isso equivaleria a 1,5 milho de empregos extinguidos da Frana e 8,5
milhes na UE-15 (DEMMOU, 2010).
O segundo fator responsvel pela reduo do emprego industrial na Unio
Europeia foi a realocao da demanda interna em razo dos ganhos de produti-
vidade obtidos na indstria.
17
No perodo 1980-2007, a mdia da produtividade
total dos fatores para o crescimento do valor adicionado na indstria da UE-15
foi medida em 1,66 p.p. (EU KLEMS, 2009). Esse valor foi trs vezes superior
mdia da produtividade total dos fatores na economia como um todo (0,64
p.p.) e quatro vezes superior ao do setor de servios (0,4 p.p.). Como demonstrou
Demmou (2010), os ganhos de produtividade na indstria, quando superiores
ampliao da sua demanda, motivavam a participao reduzida do emprego
16. Desses 11 milhes de empregos eliminados, a maior parte (8,5 milhes) desapareceu, entre 1980 e 2000. Sem
exceo, todos os grandes setores da indstria perderam postos de trabalho, especialmente os tradicionais. As maiores
perdas foram registradas no setor txtil e de couro, que viram diminuir em dois teros os seus postos de trabalho (me-
nos 3,5 milhes) entre 1980 e 2007. A segunda maior queda absoluta foi observada na indstria de metais de base e
produtos metlicos (menos 1,3 milho).
17. possvel que alguns dos progressos tcnicos sejam devidos presso do comrcio internacional sobre os pases
emergentes. Ver, entre outros, Wood (1994) e Thoenig e Verdier (2003).
102 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
industrial na economia. Com efeito, para sustentar o nvel do emprego industrial
eram necessrios, em primeiro lugar, que os ganhos gerais de produtividade fossem
acompanhados pelo crescimento de demanda em todos os setores da economia
e, em segundo lugar, que esses ganhos na indstria propiciassem uma ampliao
equivalente da sua demanda. Ou seja, se a demanda pelos bens produzidos na in-
dstria no acompanhassem o crescimento da produtividade do setor, surgiria um
excesso de oferta de bens que impulsionaria a reduo da capacidade de produtiva
e, consequentemente, a menor necessidade de postos de trabalho na indstria.
Em funo das cleres mudanas tecnolgicas na indstria,
18
a demanda eu-
ropeia por produtos industriais tenderam a crescer a uma taxa inferior dos ga-
nhos de produtividade. Desse modo, a gerao de empregos na indstria diminuiu
de modo progressivo ao longo do tempo, como sugere o modelo apresentado no
anexo. De acordo com Rowthorn e Ramaswamy (1999) e Fontagn e Bouhlol
(2006), o crescimento da demanda da manufatura impulsionada pelo efeito-ren-
da negativo, e efeito-substituio positivo , em geral, mostrou-se insufciente para
compensar a menor necessidade de mo de obra associada aos ganhos de produ-
tividade no setor. No contexto francs, esse segundo fator explicou cerca de 30%
de perdas de emprego industrial, entre 1980 e 2007, sendo que, na dcada passada
(2000-2007), foi responsvel por at 65% dessas perdas (DEMMOU, 2010).
Com efeito, as estimativas existentes indicaram que esses dois fatores responderam
por, pelo menos, 70% da reduo do emprego industrial da Europa. Assim, o terceiro
fator a concorrncia internacional determinou no mais que 30% deste fenmeno.
Alm disso, vale ressaltar que os efeitos promovidos por esse terceiro fator no se
deveram exclusivamente aos pases com baixos salrios, como a China, mas tambm
a outros pases com salrios mais elevados. Dessa perspectiva, a distribuio das im-
portaes da UE-15 sugere que os produtos baratos adquiridos nos pases com baixos
salrios tm um impacto restrito sobre a estrutura produtiva interna. Conforme o
grfco 6, as importaes da UE-15 concentraram-se na prpria regio, uma vez que
as compras oriundas da UE-15 tiveram uma participao elevada (entre 50% e 70%)
e estvel, ao longo dos ltimos trs decnios. Alm disso, a participao dos outros 12
pases da UE-27 triplicou, entre 1980 e 2009, atingindo 7% do total das importaes
da UE-15. Fora dessa regio, as importaes foram dominadas por pases desenvolvi-
dos, cuja participao em todo o perodo, na mdia, foi de 15% (grfco 6).
18. Teoricamente, a mudana tecnolgica afeta a estrutura da demanda (e, portanto, do emprego) por meio de dois ca-
nais principais: um efeito-renda (associado aos ganhos de produtividade global da economia) e um efeito-substituio
(associado aos ganhos diferenciais de produtividade entre os setores manufatureiro e no manufatureiro). O primeiro
efeito (renda) refere-se mudana no uniforme na composio dos agentes de sua cesta de consumo medida que
a renda real evolui. O segundo efeito trata da possibilidade de compensar essa evoluo, uma vez que os ganhos
maiores de produtividade na indstria em comparao com o restante da economia deprimem os preos relativos
e, portanto, estimulam a demanda por bens nesse setor. A magnitude do efeito depende da sensibilidade da demanda
s mudanas nos preos relativos.
103 A Ascenso Chinesa: implicaes para as economias da Europa
GRFICO 6
Participao das importaes da UE-15 por regies selecionadas 1981-2009
(Em %)
0
7
14
21
28
35
42
49
56
63
70
1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
UE-15 Pases desenvolvidos (excluindo UE-15)
Pases emergentes Demais pases da UE-27
China
Fonte: Chelem Database. Disponvel em: <http://chelem.bvdep.com>.
Elaborao da autora.
As compras de pases emergentes, apesar de um aumento muito rpido no
perodo de 5%, em 1980, para 16%, em 2009, do total das importaes totais ,
permaneceram com uma contribuio bastante restrita se comparada s demais
regies. As importaes provenientes da China (com Hong Kong) aumentaram
37 vezes durante o perodo, mas representaram apenas 6% do total importado
pela UE-15 em 2009 (grfco 6).
Ademais, os fluxos de IDE dos pases europeus tiveram como destino
principal as naes da regio. Os pases da OCDE, por exemplo, receberam
em torno de 90% do IDE vindo da Alemanha ou da Frana em 2008. Este
nmero praticamente no mudou desde 2000. A China respondeu por,
respectivamente, menos de 1% e 2% do estoque de IDE francs e alemo
no exterior em 2008.
Estimativas diretas do nmero de funcionrios no exterior em fi-
liais estrangeiras de empresas europeias confirmam que o padro de
simples relocalizao de postos de trabalho europeus para pases com
salrios baixos bastante limitado. Segundo dados da OCDE, as mul-
tinacionais alems empregavam 2,3 milhes de trabalhadores no es-
trangeiro em 2008. Dois teros estavam em pases da OCDE e, mais
precisamente, em outros pases europeus (perto de 45% na UE-27).
Esses nmeros tm se mantido relativamente constantes desde 1985.
104 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
Embora a participao da China tivesse se expandido de 3% para 9%,
entre 1985 e 2008, o pas empregou apenas 200 mil funcionrios alemes,
enquanto a perda de emprego total da indstria alem foi de 3 milhes
(EU KLEMS, 2009).
Evidentemente, essas estatsticas mais recentes fornecem apenas um re-
trato imperfeito do impacto total da emergncia da China sobre o mercado de
trabalho da Unio Europeia, pois se concentram em atividades externalizadas
pelas empresas europeias e no tratam do volume de emprego que foi substi-
tudo pela importao de produtos nesses pases com baixos salrios. Todavia,
mesmo os mtodos que incorporam os impactos do comrcio exterior para a
eliminao dos empregos europeus medidas de contedo de mo de obra
intensiva no comrcio internacional, modelos de equilbrio geral computvel
e modelos economtricos
19
no constataram uma reduo signifcativa dos
empregos industriais na Europa. Os resultados desses estudos apontaram que
somente cerca de 10% a 20% da eliminao dos postos de trabalho da inds-
tria europeia foi explicada pela ampliao das relaes comerciais bilaterais
com os pases emergentes.
3.2 O impacto no emprego europeu oriundo do IDE para os pases com
baixos salrios
A chave para avaliar o impacto do IDE das empresas europeias no emprego doms-
tico o grau de substituio ou complementaridade entre as empresas nacionais e
as operaes no exterior e, portanto, a substituio ou complementaridade entre
o emprego domstico e o no exterior (HANSON; MATALONI; SLAUGHTER,
2005). Poderia se esperar que a transferncia da atividade para o exterior reduziria o
emprego no pas de origem, enquanto a expanso do escopo da atividade em nvel
internacional criaria empregos no pas de origem. Do ponto de vista terico, se a
operao estrangeira replicasse o negcio nacional, haveria um efeito de substitui-
o entre o trabalho domstico e o estrangeiro. Logo, a realizao de IDE deveria
reduzir a gerao dos postos de trabalho na atividade nacional das empresas. Isso
ocorre quando a estratgia para a realizao do IDE visa aproveitar-se da existncia
de fatores de produo com custos menores em terceiros mercados (denominado
IDE vertical). Em contrapartida, quando as atividades estrangeiras so desenvol-
vidas de modo a expandir o mercado das empresas nacionais (denominado IDE
horizontal), as atividades externas e internas se complementam. Mesmo no caso
do IDE vertical, o impacto no emprego domstico no necessariamente nega-
tivo, pois os efeitos negativos diretos da relocalizao sobre o emprego podem ser
compensados por um dos efeitos indiretos positivos sobre o emprego domstico.
19. Para uma discusso desses modelos, ver os seguintes trabalhos: Kucera e Milberg (2003); Cortes e Jean (1998);
Rowthorn e Ramaswamy (1999); Fontagn e Lorenzi (2005) e Hijzen, Grg e Hine (2003).
105 A Ascenso Chinesa: implicaes para as economias da Europa
O primeiro seria a maior necessidade de articulao e coordenao das atividades
realizadas nacionalmente e no exterior. E o segundo seria os efeitos de escala de-
correntes do impacto da relocalizao dos custos mdios. Como ilustrao, Becker
et al. (2005) mostraram que a expanso das atividades estrangeiras das empresas
alems tem sido acompanhada por um crescimento na produo e no emprego
alemo. Eles calcularam que, entre 1996 e 2001, houve um aumento de 56% nas
contrataes feitas pelas subsidirias estrangeiras de multinacionais alems, que foi
acompanhado por uma elevao de 50% no emprego domstico.
Os resultados oferecidos pela literatura baseada em dados em nvel da empresa,
que, de modo geral, avalia o impacto da atividade de produo no exterior sobre o
emprego da matriz, indicaram uma baixa correlao entre a transferncia de parte da
produo para pases com mo de obra barata e a no gerao de empregos nessas
empresas. Pelo contrrio, os efeitos desse investimento realizados nessas operaes de
transferncia da indstria foram considerados positivos, em grande parte dos casos.
20
Baseados em abordagens empricas inovadoras que combinam tcnicas de
harmonizao e de estimao, vrios trabalhos indicaram que o efeito causal do
IDE sobre o emprego nas empresas foi em sua maioria positivo. Os resultados
se aplicaram para a Frana (HIJZEN; JEAN; MAYER, 2011), a Itlia (BARBA
NAVARETTI; CASTELLANI; DISDIER, 2010), a Sucia (BLOMSTRM;
FORS; LIPSEY, 1997) e a Alemanha (KLEINERT; TOUBAL, 2008). Hijzen,
Jean e Mayer (2011) mostraram que o impacto variou segundo a motivao para
comear a produzir no exterior. Eles sugeriram que o IDE horizontal realizado pelas
empresas francesas esteve conectado aos efeitos de escala signifcativos, resultando
na criao de emprego. J no caso dos investimentos em pases com baixa renda,
realizados pelo motivo vertical, no indicaram ter um efeito signifcativo sobre o
emprego. A ausncia de perda de postos de trabalho nas matrizes pareceu derivar
de ganhos de efcincia e de emprego nos segmentos retidos nos pases de origem.
Assim, a relocalizao de parte do processo de produo no exterior se mostrou, na
realidade, uma estratgia efciente para resistir s presses concorrenciais.
Desse modo, no somente o estreitamento das relaes comerciais entre os
pases europeus e os com baixos salrios, mas tambm a realizao do IDE dos
primeiros pases nos segundos, no trouxeram impactos muito signifcativos para
o emprego europeu. Junto a esse aspecto, alguns estudos apontaram que a con-
corrncia imposta pelos pases com baixos salrios impactou positivamente em
outras variveis econmicas e sociais, como se observa na subseo 3.3.
20. importante recordar que a teoria ambgua quanto ao impacto esperado sobre as atividades de uma empresa
que se dedica a produzir no exterior. Conforme Fontagn e Toubal (2010), qualquer que seja o motivo principal para
transferncia das atividades para o exterior (vertical ou horizontal), as vendas da empresa multinacional devem au-
mentar, gerando um efeito renda. Assim, mesmo no caso das relocalizaes (fechamento da empresa na Europa para
abri-la no exterior), o efeito lquido em termos de emprego (substituio versus renda) a priori indenido.
106 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
3.3 Benefcios adicionais da concorrncia com pases de baixos salrios
Um nmero crescente de trabalhos sugeriu que a exposio de pases com baixos
salrios, como a China, a produtos importados tem impulsionado a inovao
(BLOOM et al., 2011a). A intensifcao da concorrncia tem forado as empre-
sas dos pases desenvolvidos a reorientarem sua produo para produtos de maior
qualidade e mais sofsticados, de acordo com suas vantagens comparativas. Como
sugerido na seo 2, essa reespecializao intraindustrial propiciou um impacto
positivo sobre o desempenho do comrcio internacional (MARTIN; MJEAN,
2011) e no desempenho do crescimento no longo prazo da Europa (BLOOM et
al., 2011b; HAUSMANN; HWANGI; RODRIK, 2007).
Martin e Mjean (2011) utilizaram dados a nvel de empresas na Frana a fm
de mostrar que, entre 1995 e 2005, a intensifcao da concorrncia dos pases com
salrios baixos levou, efetivamente, a um processo de reequilbrio das vendas em
favor das empresas de alta qualidade. Eles constataram que durante o perodo, os
produtores de baixa qualidade perderam participao de mercado no exterior para
seus concorrentes de alta qualidade e que sem esta destruio criativa no sentido
schumpeteriano causada pela exposio concorrncia dos pases com baixos sa-
lrios, a Frana teria perdido mais de 40% de sua participao no mercado mundial.
Resultados similares foram relatados por Bloom et al. (2011a) que elaboraram
anlise aps a adeso da China OMC em 2001. Depois desse evento, as cotas
sobre a maioria dos produtos chineses foram eliminadas, levando a um grande au-
mento no comrcio internacional. O estudo discutiu o desempenho de mais de
500 mil empresas de manufatura em 12 pases europeus na ltima dcada, assim
como comparou o crescimento do nvel de emprego, segundo os diferentes nveis
tecnolgicos das empresas e sua exposio ao crescimento das importaes chinesas.
Partindo dessa metodologia, foi constatado que o nmero de fbricas de bai-
xa tecnologia estava diminuindo, com destaque para os segmentos como ves-
turio, mobilirio e txtil mais afetados pela entrada da China nesses setores.
Em comparao, as fbricas de alta tecnologia cresceram cerca de 10% em todos
os setores, independente de sua exposio concorrncia chinesa, indicando que a
elevada produtividade/qualidade permitiu a essas empresas defenderem suas posies
no mercado internacional, a despeito da entrada da China. Alm desse efeito pura-
mente alocativo entre empresas , esse movimento motivou uma resposta ameaa
das importaes chinesas que promoveu um aumento de produtividade dessas em-
presas, a partir da adoo de novas tecnologias de informao, realizao de mais in-
vestimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e ampliao das solicitaes de
patentes. Bloom et al. (2011a) calcularam que cerca de 15% da mudana tcnica na
Europa um benefcio anual de quase 10 bilhes para pases europeus pde ser
atribuda diretamente a esta inovao induzida nas empresas expostas concorrncia.
107 A Ascenso Chinesa: implicaes para as economias da Europa
Houve benefcios adicionais do comrcio chins para aqueles que aumen-
taram a taxa de inovao das economias ocidentais, a partir da integrao com
as economias de baixos salrios. Como foi destacado no contexto dos Estados
Unidos (BRODA; ROMALIS, 2008), o aumento das importaes provenien-
tes de pases com baixos salrios tem permitido que os consumidores tenham
acesso a bens com preos mais baixos. Broda e Romalis (2008) estimaram que
nos setores em que as exportaes chinesas aumentaram, a infao foi negativa
durante a ltima dcada, enquanto em outros setores sem a presena chinesa a
infao superou os 20%. Eles ainda argumentaram que a China ampliou o poder
de compra dos pases desenvolvidos, principalmente das famlias de baixa renda.
Isto ocorreu porque a China tem produzido bens industriais mais sofsticados,
porm de qualidade relativamente baixa, que foram consumidos por essas famlias.
Os autores calcularam que cerca de um tero do declnio de preos a popula-
o de baixa renda respondeu expanso das importaes oriundas da China.
Embora tal avaliao no exista para os pases europeus, muito provvel que esse
padro tambm seja verdadeiro.
Segundo Bloom et al. (2011a), a emergncia da China e as perspectivas
de maiores mercados de exportao para as empresas nos pases desenvolvidos
tm estimulado o investimento. Alm disso, provvel que, sem a disponibili-
dade de produo barata, muitos dos dispositivos como o iPod ou Ipad nunca
teriam sido desenvolvidos.
4 CONSIDERAES FINAIS
Esse artigo aborda o impacto da concorrncia dos pases com baixos salrios,
como a China, sobre o desempenho comercial, econmico e social dos pases
europeus. Primeiro, argumentou-se que os temores levantados pela concorrn-
cia entre a Unio Europeia e a China tm se mostrado exagerados, uma vez
que as exportaes das regies competem em segmentos distintos, em termos
de qualidade. Ainda que as duas regies tenham indstrias especializadas em
setores de alta tecnologia, quando a comparao foi realizada, em um nvel
mais detalhado da classifcao internacional de produtos, as variedades expor-
tadas pelos pases europeus e da China no estiveram nos mesmos segmentos.
Enquanto a China fez progressos rpidos no segmento inferior do mercado, a
Unio Europeia esteve presente principalmente no segmento superior do mer-
cado e, com isso, foi capaz de resistir muito melhor do que outros pases desen-
volvidos ascenso dos pases com baixos salrios, em especial a China. Alm
disso, mesmo no caso de relocalizao de parte do processo de produo para
a China, a maior parte do excedente permaneceu com as empresas multinacio-
nais que transferiram suas fliais para o pas asitico.
108 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
Ademais, concluiu-se que apenas uma pequena parcela (entre 10% e 20%)
dos 11 milhes de postos de trabalho eliminados na rea de manufatura da
UE-15 nos ltimos 30 anos foi resultado do acirramento da concorrncia com
pases de baixos salrios. Mesmo nos ltimos anos, quando a China ganhou
destaque, a transferncia das indstrias europeias para os pases emergentes no
explicou mais da metade dos efeitos no mercado de trabalho. As principais fon-
tes de declnio industrial na Europa encontraram-se na evoluo na estrutura
da demanda induzida por ganhos de produtividade e de transferncia interna
de empregos industriais para os servios.
O trabalho destacou que a maior articulao com a economia chinesa, por meio do
comrcio internacional e dos investimentos estrangeiros, impactou de forma positiva as
economias da Unio Europeia, com destaque para o declnio dos preos de consumo, es-
pecialmente nos segmentos mais pobres da populao, e o aumento da taxa de inovao.
Desse modo, tornou-se um trusmo constatar que a concorrncia imposta
pelos pases emergentes, principalmente a China, trouxe poucos efeitos negativos
para Europa. Entretanto, essa concluso foi baseada em estimativas no muito
recentes e, por isso, notou-se uma grande difculdade em mensurar se os resultados
apresentados neste trabalho se aplicam para os ltimos anos a segunda metade
dos anos 2000 ou se podem servir como referncia para o futuro. Apesar disso,
acredita-se que possa existir um possvel choque, pelo menos, comparvel em escala
ao crescimento dos New Industrialized Economies da sia (Taiwan, Cingapura,
Hong Kong e Coreia do Sul) e que as perdas de empregos seriam comparveis.
Elas podem afetar principalmente os setores intensivos em mo de obra e de
baixa qualifcao, mas alguns setores de servios tambm podem ser afetados.
A resilincia deve depender, como antes, do posicionamento em um segmento de
maior qualidade de mercado e da explorao de nichos de mercado mesmo nos
setores tradicionais, como o txtil ecotxteis, tecidos inteligentes etc.
REFERNCIAS
AMITI, M.; FREUND, C. An anatomy of Chinas export growth. In:
FREENSTRA, R.; WEI, S. (Ed.). Chinas growing role in world trade. Chicago:
University of Chicago Press, 2010.
AUBERT, P.; SILLARD, P. Dlocalisations et rductions defectifs dans lindustrie
franaises. In: INSEE (Org.). Lconomie franaise: comptes et dossiers. Paris:
INSEE, 2005. p. 57-89.
BARBA NAVARETTI, G.; CASTELLANI, D.; DISDIER, A. How does investing
in cheap labour countries afect performance at home? Firm-level evidence from
France and Italy. Oxford Economic Papers, v. 62, n. 2 p. 234-260, 2010.
109 A Ascenso Chinesa: implicaes para as economias da Europa
BARLET, M. et al. Les fux de main doeuvre et les fux demplois dans un contexte
dinternationalisation. In: INSEE (Org.). Lconomie franaise: comptes et
dossiers. Paris: INSEE, 2007.
BECKER S. O. et al. Location choice and employment decisions: a comparison of
German and Swedish multinationals. Review of World Economics, v. 141, n. 4,
p. 693-731, 2005.
BLOMSTRM, M.; FORS, G.; LIPSEY, R. E. Foreign Direct Investment
and employment: home country experience in the United States and Sweden.
Te Economic Journal, v. 107, p. 1787-1797, 1997.
BLOOM, N. et al. Trade induced technical change? Te impact of chinese
imports on innovation, IT and productivity. Cambridge, MA: NBER, 2011a
(Working Paper, n. 16717).
______. Trapped factor model of innovation, 2011b. Mimeografado.
BONGIORNI, S. A year without made in China: one familys true life
adventure in the Global Economy. Hoboken: Wiley, 2007.
BRODA, C.; ROMALIS, J. Inequality and prices: does China beneft the poor
in America? University of Chicago, 2008. Mimeografado.
CHEPTEA, A. et al. European Export Performance. Paris: CEPII, 2010
(Working Paper, n. 12).
CONFERNCIA DAS NAES UNIDAS PARA COMRCIO E DESEN-
VOLVIMENTO (UNCTAD). World Investment Report 2006 FDI from
Developing and Transition Economies: implications for development. New York;
Geneva: United Nations, 2006.
CORTES, O.; JEAN, S. Does competition of emerging countries threaten the European
unskilled labour? An applied general equilibrium approach. In: BRENTON, P.;
PELKMANS, J. (Ed.). Global trade and European workers. Londres: Macmillan, 1998.
CURRAN, L.; ZIGNAGO, S. Evolution of EU and its member states
competitiveness in international trade. Paris: CEPII, 2009 (Working Paper, n. 11).
DEMMOU, L. La dsindustrialisation en France. Les cahiers de la DG trsor,
n. 1, juin 2010.
EU KLEMS. November 2009 release, 2009. Disponvel em: <http:///www.euklems.net>.
EUROPEAN RESTRUCTURING MONITOR (ERM). Restructuring and
employment in the EU: the impact of globalization, 2007.
FONTAGN, L. Outsourcing, competitiveness and the labour market: losers
and winners. Papeles de Europa, n. 18, p. 35-49, 2009.
110 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
FONTAGN, L.; BOUHLOL, H. Desindustrialisation and the fear of
relocations in the industry. Paris: CEPII, 2006 (Working Paper, n. 7).
FONTAGN, L.; GAULIER, G. Une analyse des difrentes de performance
lexportation entre la France et lAllemagne. In: ______. Performances
lexportation de la France et de lAllemagne. La Documentation franaise,
2008 (Rapport du CAE, n. 81).
FONTAGN, L.; GAULIER, G.; ZIGNAGO, S. Specialization across varieties
and North-South competition. Economic Policy, v. 23, n. 53, p. 51-91, 2008.
FONTAGN, L.; LORENZI, J. Dsindustrialisation, dlocalisations.
La Documentation franaise, 2005 (Rapport du CAE, n. 55).
FONTAGN, L.; PY, L. Determinants of Foreign Direct Investment by Chinese
enterprises in the European Union. Paris: CEPII, 2010 (Report, n. 2010-01 July).
FONTAGN, L.; TOUBAL, F. Investissement direct tranger et performances
des enterprises. In: FONTAGN, L.; GAULIER, G. Performances
lexportation de la France et de lAllemagne. La Documentation franaise,
2010 (Rapport du CAE, n. 81).
FREEMAN, R. B. Are your wages set in Beijing. Journal of Economic
Perspectives, v. 9, n. 3, p. 15-32, Summer 1995.
FUNG, K. C.; IIZAKA, H.; TONG, S. Y. FDI in China: Policy, recent Trend
and Impact. Global Economic Review, v. 32, n. 2, p. 99-130, 2004.
HANSON, G. H.; MATALONI, R. J.; SLAUGHTER, M. J. Vertical Production
Networks in Multinational Firms. Review of Economics and Statistics, v. 87,
n. 4, p. 664-679, 2005.
HAUSMANN, R.; HWANG, J.; RODRIK, D. What you export matters. Journal
of Economic Growth, v. 12, n. 1, p. 1-25, Springer 2007.
HIJZEN, A.; GRG, H; HINE, R. C. International fragmentation and
relatives waegs in the UK. Bonn: Institute for the Study of Labor (IZA), 2003
(Discussion Paper, n. 717).
HIJZEN, A.; JEAN, S.; MAYER, T. Te efects at home of initiating production
abroad: evidence from matched French frms. Paris, 2011. Mimeografado.
JARREAU, J.; PONCET, S. Export Sophistication and Economic Growth:
evidence from China. Paris, 2011. Mimeografado.
KLEINERT, J.; TOUBAL, F. Te impact of locating production abroad on
activities at home: evidence from German frm-level data. Paris, 11 June 2008.
Disponvel em: <http://ces.univ-paris1.fr/membre/toubal/papers/WA/res.pdf>.
111 A Ascenso Chinesa: implicaes para as economias da Europa
KOOPMAN, R.; WEI, S.; WANG, Z. How much Chineses exports are really
made in China? Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research, 2008
(Working Paper, 14109).
KUCERA, D.; MILBERG, W. Desindustrialization and changes in manufacturing
trade: factor content calculations for 1978-1995. Review of World Economics,
v. 139, n. 4, p. 601-624, 2003.
LARDY, N. China: the great new economic challenge. In: BERGSTEN, F. (Ed.).
Te United States and the world economy: foreign economic policy for the
next decad. Washington: Institute for International Economics, 2005.
LEMOINE, F.; NAL-KESENCI, D. Assembly trade and technology transfer:
the case of China. World Development, v. 32, n. 5, p. 829-850, 2004.
MARIN, D. A new international division of labour in Europe: outsourcing and
ofshoring to Eastern Europe. Journal of the European Economic Association,
MIT Press, v. 4, p. 612-622, 2006.
MARTIN, J.; MJEAN, I. Low-Wage Countries competition, reallocation
across frms and the quality content of exports. London: CEPR, 2011
(Discussion Paper, 8231).
NAUGHTON, B. Te Chinese economy: transitions and growth. Cambridge,
MA: MIT Press, 2007.
ORGANIZAO PARA COOPERAO E DESENVOLVIMENTO ECO-
NMICO (OCDE). Statistics online. Disponvel em: <http://stats.oecd.org>.
______. Main determinants and impacts of Foreign Direct Investment on Chinas
economy. Paris, Dec. 2000 (Working Paper on International Investment, n. 4).
______. OECD Economic Surveys: China, 2005. Paris, 2005.
RODRIK, D. Whats so special about Chinas exports? China & World Economy,
v. 14, n. 5, p. 1-19, 2006.
ROWTHORN, R.; RAMASWAMY, R. Growth, trade, and deindustrialization.
IMF Staf Papers, v. 46, n. 1, p. 18-41, 1999.
SCHOTT, P. Te Relative Sophistication of Chinese Exports. Economic Policy,
v. 23, n.53, p. 5-49, 2008.
THOENIG, M.; VERDIER, T. Innovation dfensive et concurrence
internationale. conomie et Statistique, n. 363-365, p. 19-32, 2003.
VAN ASSCHE, A.; GANGNES, B. Electronics production upgrading: is China
exceptional? Applied Economics Letters, v. 17, n. 5, p. 477-482, 2010.
112 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
VERHOOGEN, E. A. Trade, quality upgrading, and wage inequality in the
Mexican manufacturing sector. Te Quarterly Journal of Economics, v. 123,
n. 2, p. 489-530, 2008.
WOOD, A. North-South trade, employment and inequality: changing
fortunes in a skilled-driven world. Oxford: Clarendon Press, 1994.
YAO, S. Why are Chinese exports not so special? China & World Economy,
v. 17, p. 47-65, 2009.
113 A Ascenso Chinesa: implicaes para as economias da Europa
ANEXO
PREVISO TERICA DO IMPACTO DE UM AUMENTO NA RENDA SOBRE O EMPREGO
INDUSTRIAL
Considere uma economia com dois setores i e j, que representam, respectivamente,
o setor manufatureiro e o de servios.
O emprego (L) em cada setor depende das condies tcnicas de produo
(a) e do volume de bens produzidos (X).
Xi = ai Li e Xj = aj Lj
Li/Lj = (aj/ai) (Xi/Xj)
Os padres de consumo so defnidos por uma funo de utilidade com duas
mercadorias do tipo Stone Geary. Os consumidores maximizam sua funo de uti-
lidade defnida como simples transformao de uma funo Cobb-Douglas, com a
introduo de um parmetro que d conta do fato de que o agente quer satisfazer um
volume mnimo de consumo de bens industriais antes de comear a consumir servios.
A maximizao da utilidade pode ser escrita como:
Max U = (1 - sj) log (Xi - ) + sj logXj
Sob restrio de I = pi Xi + pj Xj,
em que s um parmetro de repartio, p corresponde aos preos dos bens
e I representa a renda do agente.
Supondo que a renda do agente lhe permite satisfazer o volume mnimo
de consumo de bens industriais, a maximizao da funo de utilidade leva s
seguintes funes de demanda:
pj Xj = pi (Xi - ) sj/(1 - sj)
pi Xi = pj Xi (1 - sj)/sj + pi
Utilizando a expresso da restrio oramentria, essas funes podem ser
reescritas como:
pj Xj = sj (I - pi )
pi Xi = (1 - sj) I + sj pi
A funo de utilidade tipo Stone Geary sugere que a elasticidade-renda da
demanda por bens industriais menor que a unidade, enquanto a elasticidade-renda
da demanda por servios maior do que a unidade:
114 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
I pj Xj=I/[(I - pi )]>1
I pi Xi=I/[(I + pi sj/(1 - sj))]<1
Com base nessas funes de demanda e nas relaes que defnem a tecnolo-
gia nos setores de indstria e servios, o efeito de uma mudana de renda sobre o
emprego pode ser representado como:
Li/Lj = (aj/ai) (pj/pi) [(1 - sj) I + sj pi ]/[sj (I - pi )]
Partindo-se do pressuposto de que os preos so fxos e que os ganhos de
produtividade, que so idnticos em ambos os setores, so refetidos principal-
mente em ganhos de renda para os consumidores, a mudana no emprego relati-
vo pode ser escrita como:
ln(Li/Lj)=ln[(1 - sj) I + sj pi ] - ln[sj (I - pi )]
A participao do emprego industrial diminui com o aumento da renda dos agentes:
ln(Li/Lj)/I= - sj pi /[(1 - sj) I + sj pi ]<0
Esse resultado deriva da existncia de uma elasticidade de renda na indstria
inferior unidade.
CAPTULO 3
A ARTICULAO PRODUTIVA ASITICA E OS EFEITOS DA
EMERGNCIA CHINESA
Rodrigo Pimentel Ferreira Leo*
1 INTRODUO
No terceiro quartel do sculo XX, o acelerado desenvolvimento das economias
asiticas, primeiro do Japo e depois de Coreia do Sul, Hong Kong e Taiwan,
caracterizou-se em um dos principais fenmenos da economia mundial desse pe-
rodo. Em menos de 30 anos, essas naes saram de uma condio sofrvel para
alcanar o status de pases capitalistas mais dinmicos no fm da dcada de 1970.
Apesar da recesso que afetou parte do mundo capitalista nos anos 1980, outras
economias da regio, como Malsia e Tailndia tambm conseguiram engatar um
processo de acelerado desenvolvimento econmico, integrando suas indstrias s
dos demais pases da regio Japo, Coreia do Sul, Taiwan e outros.
Todavia, depois dos anos 1980, o fato mais importante envolvendo essa
regio foi a ascenso da China. As elevadas taxas de crescimento econmico, a
expanso da estrutura de produo e de exportao, entre outros aspectos, per-
mitiram ao pas se tornar um lder regional. Essa posio chinesa se solidifcou
no fm dos anos 1990, quando a crise asitica de 1997 afetou de modo negativo
grande parte da regio. Nos anos 2000, a dinmica de articulao produtiva asi-
tica liderada pelo Japo passou a ter na China um novo protagonista.
Partindo desse cenrio, o presente captulo tem dois objetivos. Primei-
ro, identifcar as principais caractersticas dessa articulao produtiva da sia,
capitaneada pelo Japo, sublinhando o momento de insero da China nesse
processo. E, segundo, apresentar o modo pelo qual a China passou a redefnir
a dinmica dessa articulao produtiva, notadamente depois da crise asitica
de 1997. Para tanto, o texto est dividido em mais quatro sees, alm desta
introduo. Na seo 2, discute-se a conformao da articulao das indstrias
asiticas, dando enfoque liderana japonesa e ao ingresso da China nesse
* Mestre em Desenvolvimento Econmico pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas (UNI-
CAMP) e Pesquisador do Programa de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional (PNPD) na Diretoria de Estudos e
Relaes Econmicas e Polticas Internacionais (Dinte) do Ipea.
116 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
processo sem se esquecer do papel cumprido pela economia norte-americana.
Na seo 3, apontam-se as principais polticas chinesas depois de 1997 que
deram ao pas a capacidade de sustentar o dinamismo de sua economia, ao
contrrio da maior parte dos pases da regio, bem como os efeitos da ascenso
chinesa na articulao produtiva asitica. Na seo 4, apresentam-se as mudan-
as no comrcio e nos investimentos regionais depois dos anos 1990, perodo
em que a China se tornou um grande lder regional. E, por fm, na seo 5,
seguem-se as consideraes fnais.
2 A ECONOMIA POLTICA DOS GANSOS VOADORES: A ARTICULAO
PRODUTIVA ASITICA LIDERADA PELO JAPO SOB A HEGEMONIA DOS
ESTADOS UNIDOS
1
O perodo conhecido como ps-guerra presenciou o acelerado crescimento eco-
nmico da sia liderado pelo Japo. Apesar dos esforos empregados por cada
pas, esse crescimento se deu em uma rede hegemnica coordenada pelos Estados
Unidos.
2
Na esfera geopoltica, a existncia de bases militares norte-americanas no
territrio japons e as restries polticas impostas s possveis ambies nipnicas
de hegemonia regional e, na esfera geoeconmica, a abertura do mercado norte-
-americano, bem como a imposio do dlar como meio de pagamento e moeda
reserva na sia condicionaram a reconstruo japonesa e de parte da regio aos
rumos da poltica norte-americana (FIORI, 1999; MCKINNON; OHNO, 1997).
A poltica dos Estados Unidos de enquadrar o desenvolvimento do lder regio-
nal asitico (Japo), depois da Segunda Grande Guerra (1937-1945), sua esfera de
infuncia tambm foi replicada posteriormente aos pases prximos (Taiwan e Coreia
do Sul). No contexto da Guerra Fria, cuja disputa entre os blocos socialista e capita-
lista se acirrou gradativamente, as revolues socialista da China e da Coreia do Norte
que irromperam entre o fm dos anos 1940 e o incio do decnio seguinte serviram
de justifcativa para extenso da interveno norte-americana na sia em Taiwan
e na Coreia do Sul, particularmente. Essa interveno ocorreu nos mesmos moldes
daquela observada no Japo, isto , por meio do estabelecimento de bases militares e
acordos polticos, assim como pela abertura econmica dos Estados Unidos para esses
pases e pela utilizao do dlar como reserva de valor e meio de pagamento.
Do ponto de vista econmico, como apontou Ozawa (2003), os Estados Unidos
formaram uma macroeconomia de induo ao crescimento mediante o estmulo
1. Parte desta seo foi desenvolvida em Leo (2010a).
2. Essa viso foi lanada por Cumings (1999): a experincia do nordeste asitico neste sculo no foi um reino de
independncia onde autonomia e igualdade reinaram, mas a de envolvimento em outra rede: a rede hegemnica.
Esta rede tinha uma aranha: primeiro Inglaterra/Amrica, depois Amrica/Inglaterra, em seguida a guerra e a derrota,
depois a Amrica unilateral, nalmente, e at o momento, a Amrica hegemnica. Japo, Coria do Sul e Taiwan
industrializaram-se dentro da rede.
117 A Articulao Produtiva Asitica e os Efeitos da Emergncia Chinesa
e a disseminao de tecnologia, conhecimento, informao de mercado, expertise e
abertura do mercado de consumo e uma institucionalidade capitalista propcia
expanso e insero global da estrutura produtiva da sia.
3
Com efeito, o milagre
asitico no seria vivel sem o papel dos Estados Unidos como hegemon do capita-
lismo. Os Estados Unidos criaram, e continuaram mantendo, um ambiente global
extremamente favorvel ao comrcio, aos investimentos, ao upgrade estrutural desses
pases (OZAWA, 2003, p. 701). Simultaneamente ao norte-americana, a expan-
so da estrutura produtiva e a escalada tecnolgica asitica apenas se materializaram
por meio da ampla participao estatal em cada pas, tanto para fomentar e coordenar
as empresas privadas via concesso de crdito, controle de importaes etc. como
para criar algumas indstrias e grande parte da infraestrutura.
Foram esses os pilares que sustentaram o desenvolvimento industrial
regionalmente articulado e a diviso de trabalho muito particular na sia
modelo conhecido na formulao de Akamatsu (1962) como gansos voado-
res. Este modelo se caracterizou pelo upgrade tecnolgico dos pases asiticos
na cadeia produtiva global capitaneado por uma economia-lder, o Japo.
Na defnio de Ozawa (2003, p. 701, traduo livre), esse lder foi respon-
svel no somente por ingressar e expandir, de modo sequencial, vrios setores
indstrias, mas tambm por implementar grandes inovaes nestes setores e
identifcar aqueles capazes de realizar transformaes estruturais cruciais.
4
O Japo somente conseguiu liderar essa articulao produtiva depois de realizar
um conjunto diversifcado de polticas internas. Nesse sentido, o Estado Nacional
japons funcionou como um grande articulador e regulador do desenvolvimento in-
dustrial e tecnolgico, ao longo do perodo ps-guerra. Para Fagundes
5
(1998, p. 23),
As razes institucionais da poltica e da organizao industrial japonesa no ps-guer-
ra tm origem na centralizao das decises econmicas promovidas pelo Estado
na dcada de trinta e durante a segunda guerra mundial (...). Embora no tenha
promovido a nacionalizao das indstrias japonesas, o Estado estabeleceu, na po-
ca, um sistema de controle de preos e quotas de produo fortemente baseado na
formao compulsria e controlada de cartis em setores chaves da economia. (...)
a economia japonesa emerg[iu] do ps-guerra com um arcabouo industrial carac-
terizado, de um lado, pela presena do Estado enquanto elemento coordenador das
atividades econmicas, e, de outro, por um tipo de organizao industrial basea-
3. A macroeconomia de induo ao crescimento (macro-clustering) um fenmeno no qual a economia hegemnica
propaga estmulos e, ao mesmo tempo, articula entre si o desenvolvimento de um conjunto de economias (...). Esse
estmulo ao crescimento inclui disseminao de tecnologia, de conhecimento, de habilidades especcas, de informa-
o de mercado e a expanso de demanda, o que contribui para sustentar os altos nveis de ecincia e produtividade
do trabalho. (OZAWA, 2003, p. 701).
4. () this model is basically a leading growth sector stages model a la Schumpeter, in which industrial upgrading
occurs periodically accentuating a sequence growth by stages, in a each of which a certain industrial sector can be
identied as the main engine of structural transformation into a higher value-added level.
5. Para informaes mais detalhadas sobre o papel do Estado japons no processo de industrializao, ver Torres Filho (1983).
118 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
do no trip bancos-empresas-MIT [Ministry of International Trade and Industry].
Nos anos subsequentes, a poltica industrial promovida pelo MITI utilizou diferen-
tes instrumentos de incentivo e controle sobre as indstrias alvo (...). Na dcada de
cinquenta, [por exemplo] (...) a interveno do MITI [foi] calcada no seu controle
sobre as importaes de insumos e bens de capital; transferncia de tecnologia; taxas
de depreciao diferenciadas para mquinas e equipamentos; e suporte fnanceiro.
Logo, entre os anos 1950 e 1970, o desenvolvimento japons combinou
a formao de fortes grupos industriais em segmentos da ponta tecnolgi-
ca com a ampla presena do Estado em vrios setores econmicos. Todavia,
como sugerido, esse processo se acelerou em funo do apoio dado pelos
norte-americanos. Alm das questes geopolticas e geoeconmicas, os Es-
tados Unidos atuaram mais decisivamente em duas frentes: i) absorvendo
a crescente produo da indstria japonesa de ponta que possibilitou ao
Japo superar seu estrangulamento externo, caracterstica de sua economia
at o perodo da Segunda Guerra; e ii) transferindo expertise para as empresas
nipnicas (TORRES FILHO, 1983).
6
Essa construo que possibilitou a ascenso japonesa se modifcou no per-
odo subsequente dcada de 1970. Alm da forte infexo do crescimento eco-
nmico nipnico depois da primeira crise de petrleo,
7
o cenrio internacional
se mostrou extremamente desfavorvel para sustentar as bases de expanso da
economia norte-americana. Por um lado, observou-se um aumento do dfcit
em conta-corrente do balano de pagamentos dos Estados Unidos motivado,
entre outros aspectos, pelos crescentes saldos comerciais negativos existentes
com o Japo e a perda de competitividade das suas empresas para as corpo-
raes japonesas e de outros pases desenvolvidos, notadamente a Alemanha.
Por outro lado, Belluzzo (1997) lembrou que, aps o trmino do Acordo de
Bretton Woods, em 1973, em razo desses sistemticos dfcits do balano de
pagamentos acentuaram-se os ataques posio central do dlar no sistema
monetrio internacional que comeou a se enfraquecer em relao a outras mo-
edas. No caso da moeda nipnica, as presses altistas sobre o iene e para a baixa
do dlar fzeram com que a primeira se valorizasse rapidamente em relao
segunda entre 1975 e 1978 (MELIN, 1997).
8
6. Em Torres Filho (1983) foram disponibilizados alguns exemplos da atuao norte-americana no Japo.
7. De acordo com informaes do Banco Mundial, enquanto entre 1961 e 1973 a mdia do crescimento do produto
interno bruto (PIB) japons foi de 9,2%, entre 1974 e 1978 essa mdia se reduziu para 3,1%.
8. O iene comeou a valorizar-se marcadamente em relao ao dlar, subindo de 305,70/US$ para 183,95/US$
entre dezembro de 1975 e outubro de 1978, por diversas razes. Em primeiro lugar, medida que uma prolongada ex-
panso monetria comeou a repercutir em fortes presses inacionrias, o Banco do Japo elevou suas taxas de juros,
levando a um aumento na demanda por ttulos japoneses. De 1975 a 1979, as taxas de juros japonesas mantiveram-
-se persistentemente acima das americanas. Na poca, os Estados Unidos estavam operando uma poltica monetria
frouxa num contexto de inao ascendente e reiterados dcits nas contas-correntes do pas. Como era de esperar o
iene comeou a valorizar vis--vis o dlar na fase nal do governo Carter (MELIN, 1997, p. 364).
119 A Articulao Produtiva Asitica e os Efeitos da Emergncia Chinesa
Mesmo com as polticas conservadoras implementadas at a primeira me-
tade do decnio seguinte,
9
o Japo continuava representando uma forte ameaa
hegemonia econmica norte-americana por causa: i) dos altos supervits em
transaes correntes acumulados pelo Japo com os Estados Unidos; ii) da pres-
so competitiva na fronteira tecnolgica impostas pelas empresas da nao asi-
tica; e iii) da dependncia norte-americana de capitais japoneses de longo prazo
(TORRES FILHO, 1997).
Em face desses constrangimentos, os Estados Unidos atuaram em duas
frentes a fm de minar a ascenso nipnica. Em primeiro lugar, como resposta
ao aumento da concorrncia industrial e da valorizao do dlar, o capital pro-
dutivo norte-americano fortaleceu sua internacionalizao a partir da reorgani-
zao de sua forma de produo. Essa nova organizao buscou reduzir os custos
produtivos e aproveitar as oportunidades ofertadas pelos fuxos de investimento
direto para sua expanso, mediante a utilizao de economias de escala e escopo,
assim como assimilao de ativos especfcos fundamentais (HIRATUKA, 2010;
ANDRADE, 2004).
10
Isso permitiu a rpida recuperao de competitividade
das corporaes norte-americanas em escala global, pressionando as grandes em-
presas nipnicas. Em segundo lugar, os Estados Unidos substituram a poltica
de valorizao do dlar, iniciada em 1979, por uma poltica de gradual des-
valorizao no Acordo de Plaza de 1985, que refetiu em uma apreciao das
principalmente moedas internacionais, entre estas o iene. Visando reforar esse
ajuste restritivo ao comrcio exterior do Japo, no Acordo do Louvre de 1987
foram impostas pelos Estados Unidos cotas voluntrias s exportaes nipnicas
(BELLUZZO, 2005).
O realinhamento das moedas das duas naes, ao lado das condies favo-
rveis oferecidas nos demais mercados asiticos para absorver os recursos exter-
nos taxa de cmbio desvalorizada e custo de produo baixo, por exemplo ,
impulsionou a sada do capital japons para regio a fm de conter a concorrncia
comercial e tecnolgica da indstria dos Estados Unidos e tambm de outros
9. Entre essas polticas, vale ressaltar o aumento das taxas de juros em 1979. Juntamente a essa mudana na trajetria
dos juros tambm foi imposta uma poltica monetria restritiva que provocou grande valorizao do dlar, a partir da
entrada de um grande volume de capital estrangeiro nos Estados Unidos.
10. Nas palavras de Andrade (2004, p. 52): a crise competitiva a partir dos anos 1970, e agravada nas dcadas
seguintes, colocou em evidncia a fragilidade das empresas anglo-americanas em responder efetivamente aos novos
competidores vindos de novas regies e sistemas, sobretudo da sia. As ideias e teorias que usavam a grande corpo-
rao moderna como princpio de organizao, projetada como pice do desenvolvimento capitalista, foram colocadas
em dvida, diante de uma estrutura que se mostrava grande, letrgica e focada demais para responder de forma
adequada ao novo ambiente econmico. Neste quadro soma-se o acirramento da competio, traduzido em novos
ciclos de vida do produto e uma demanda extremamente voltil (...). Diante desse cenrio, ocorre uma reorganizao
das estruturas industriais, notavelmente na forma de redes, de maneira que o fulcro, no lugar da grade empresa
verticalmente integrada, passou para as economias externas criadas pelas interaes entre as rmas. Assim, as empre-
sas focam nas suas reas de competncia central (core), percebidas como essenciais para a formao de vantagens
competitivas, deixando aquelas identicadas como no centrais (non-core), mas no por isso menos importantes, sob
a responsabilidade de outras empresas.
120 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
pases desenvolvidos europeus. Desse modo, os investimentos realizados pelas
empresas japonesas no exterior se concentraram na sia e mais precisamente nos
pases com maior grau de desenvolvimento da regio.
Foi em decorrncia dessa intensa transnacionalizao da indstria japonesa,
ao longo dos anos 1980, que se fortaleceu quela dinmica de desenvolvimento
regional dos gansos voadores. Ou seja, se at os anos 1970 os Estados Unidos
assumiram um papel importante na reestruturao e modernizao da estrutura
produtiva japonesa, depois dos anos 1980, quando ocorreram as j mencionadas
mudanas conjunturais e estruturais na economia internacional, o Japo tambm
exerceu essa funo para um conjunto de pases asiticos (OZAWA, 2003).
A expanso e modernizao da indstria do Japo, principalmente aquelas
que atuavam nos setores mais dinmicos da economia global eletrnica, au-
tomotiva, informtica etc., em um contexto de crescente abertura produtiva,
ocorreu simultaneamente expulso das atividades produtivas nipnicas para
outras naes da regio. Conforme lembrou Palma (2004, p. 430), a integrao
da produo asitica ganhou fora na medida em que algumas categorias de pro-
dutos deixaram de pertencer pauta de produo de exportaes japonesa, seja
porque eram intensivas em trabalho ou porque o pas esgotou o crescimento po-
tencial de sua produtividade. As presses competitivas para as empresas do Japo
intensivas em tecnologia ampliarem sua efcincia produtiva e avanar na cadeia
de inovao, ao lado dos aumentos crescentes nos custos de trabalho, motivaram
o deslocamento de processos produtivos mais simples para pases vizinhos com
baixos salrios. Nesta lgica, as corporaes nipnicas comearam a exportar seus
produtos justamente a partir desses ltimos mercados.
Por um lado, os pases do Leste e Sudeste asitico passaram a se especializar em
atividades mais simples e a vender externamente bens fnais de cadeias produtivas
de alto contedo tecnolgico por meio, principalmente, da montagem de partes e
componentes importadas. Por outro lado, as empresas transnacionais (ETN) japo-
nesas e das corporaes de outros pases desenvolvidos externalizaram progres-
sivamente sua produo transferindo sua capacidade de exportao a fm de
aumentar suas assimetrias concorrenciais, que se traduziam na gerao de ganhos
monoplicos e permitiam ao pas enfrentar a desenfreada concorrncia global.
Com efeito, as atividades das ETN do Japo foram continuamente externali-
zadas, impulsionando a formao de uma rede regional de produo que integrava
diferentes pases e empresas, nas quais eram diversifcadas as etapas da cadeia de
valor a fm de obter o mximo de retorno para o conjunto de atividades. Por causa
disso, foram abertos espaos para uma articulao maior das outras economias a
sia diviso do trabalho dessas corporaes. Essa articulao regional gansos
voadores obedeceu a uma lgica bastante particular, cujos pases envolvidos
121 A Articulao Produtiva Asitica e os Efeitos da Emergncia Chinesa
(...) especializavam-se de acordo com seus diferentes custos de produo. Os de
menor grau de desenvolvimento comeavam importando determinado produto
para, posteriormente, produzir no mercado local e, numa fase seguinte, exportar.
(...) para cada produto havia uma fase de heterogeinizao e de complementari-
dade regional, sucedida por uma de homogeneizao marcada pelo acirramento
da concorrncia e posteriormente heterogeinizao. Em sua formulao original,
Akamatsu vislumbrava um ciclo de produto intra-setorial atravs da expanso de
novos produtos num mesmo setor de acordo com sua sofsticao tecnolgica e um
ciclo de produto inter-industrial, com a passagem de bens de consumo para bens
de capital. Cada ciclo passaria pelas trs fases: importao, produo domstica e
exportao. Neste esquema (...) a elevao dos custos de trabalho decorrente da
absoro do excedente de mo de obra constitui um elemento central para o deslo-
camento das especializaes (MEDEIROS, 2010, p. 261-262).
A conformao desse cenrio permite afrmar que a disputa entre Estados
Unidos e Japo e as estratgias de expanso transfronteira das ETN explicaram os
primeiros impulsos fornecidos ao desenvolvimento asitico a partir da dcada de
1980. As restries comerciais impostas ao Japo valorizao forada do iene e
cotas de exportaes e a necessidade das empresas nipnicas de se deslocarem,
levando-se em conta a oportunidade de lucros extraordinrios oferecidos pe-
los mercados asiticos,
11
possibilitaram regio asitica comandar um processo
virtuoso de crescimento econmico e de expanso de suas estruturas produtivas,
ampliando sua rede de comrcio e investimentos.
Em suma, o esgotamento dos ganhos de produtividade para determinados
setores exportadores nipnicos, em um ambiente de realinhamento da relao
dlar/iene, bem como de estabelecimento de cotas exportadoras ao Japo, de-
terminou uma nova hierarquizao da indstria asitica. Enquanto os japoneses
asseguraram o desenvolvimento da tecnologia de ponta e a realizao de etapas
mais fnas da produo, os pases de menor grau de desenvolvimento fcaram
responsveis pelos processos mais padronizados e menos qualifcados. Isto pro-
moveu uma rpida ampliao dos fuxos de investimentos e do comrcio intrar-
regional principalmente o intrafrma (OZAWA, 2003).
Todavia, essa rpida integrao e hierarquizao da produo se deveram a outros
dois aspectos da esfera geoeconmica. Primeiro, a exemplo do que j havia acontecido
com o Japo nos anos 1950 e 1960, a abertura do mercado consumidor norte-america-
no para os outros pases da sia que no o Japo se constituiu em uma importante fonte
de demanda para as exportaes desses pases (BELLUZZO, 2005). Alm disso, a libe-
ralizao das contas de capitais globais permitiu ao mercado fnanceiro norte-americano
11. Nesse sentido, para Kojima (2000 apud MEDEIROS 2010, p. 262) as grandes rmas [inicialmente as japonesas]
so consideradas um condutor benevolente do progresso tecnolgico. O crescimento decorre dos ganhos de produtivi-
dade que se origina de uma maior ecincia alocativa e ecincia produtiva (...). o ganso lder (o pas mais avanado)
que inaugura uma presso para baixo nos demais pases, iniciando a sequncia articulada.
122 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
comandar um processo de expanso do crdito, que se materializou na alavancagem de
grandes empresas estrangeiras e no endividamento do setor fnanceiro norte-americano.
Esses processos tornaram possveis aos pases asiticos intensifcarem o acmulo de su-
pervits em conta-corrente e atrair crescentes fuxos de investimento direto estrangeiro
(IDE) dos Estados Unidos, estimulando a concorrncia entre as corporaes norte-ame-
ricanas e japonesas no continente (BELLUZZO; CARNEIRO, 2003).
Segundo, a opo do governo japons em manter, na segunda metade da d-
cada de 1980, uma poltica fscal e monetria expansionista, a fm de estimular o
consumo e o investimento privado como forma de recuperar a recesso causada pela
rpida queda do supervit comercial, tambm rearticulou a forma de ao de suas
empresas.
12
Essa conjuntura associada s constantes variaes cambiais e a possibili-
dade de as empresas exportadoras japonesas terem livre acesso s operaes fnancei-
ras via abertura da conta capital fomentou um novo tipo de atividades no pas:
Diante desse quadro, as empresas produtivas lanaram-se com grande apetite em
operaes especulativas numa busca desenfreada por lucros no-operacionais. Com
os ajustes ocorridos nas empresas japonesas na dcada de 1970 e 1980, a tendncia
havia sido de muitas delas aumentarem substancialmente seus saldos de caixa. Com
a desregulamentao do mercado fnanceiro, as corporaes passaram a aproveitar
as oportunidades que os mercados interno e externo lhes proporcionavam em ter-
mos de juros, cmbio, etc. (TORRES FILHO, 1997, p. 10).
Essa nova forma de operao das empresas japonesas expandiu ainda mais
suas fronteiras de atuao em torno do globo. Como o choque cambial onerou a
operao produtiva dessas empresas no Japo e como os bancos tambm estavam
buscando outros mercados para reaver seus lucros, essas empresas foram obrigadas
a se deslocar e investir em outros pases asiticos.
2.1 A ascenso do resto: os NIE
13
e a China na articulao produtiva asitica
Como mencionado, a transferncia produtiva asitica ocorreu no apenas de for-
ma hierarquizada, mas tambm de modo sequencial. Isto , o ingresso de cada
12. No Japo, a valorizao do iene provocou uma reduo na taxa de crescimento e na taxa de lucro dos setores
exportadores. Diante desse cenrio, o governo decidiu mudar sua poltica monetria, tornando-a profundamente ex-
pansionista. Assim, o Banco do Japo (...) iniciou, em janeiro de 1986, a reduo da taxa de redesconto, que estava em
5%, at que alcanasse 3% em novembro e, nalmente, 2,5% em fevereiro do ano seguinte, o menor valor registrado
at ento. Um dos principais objetivos das autoridades japonesas com a nova poltica era criar condies para que a
demanda interna crescesse, compensando a perda do impulso exportador, que havia sustentado o crescimento da eco-
nomia japonesa na primeira metade dos anos 1980. Essa meta foi plenamente alcanada, graas acelerao do cres-
cimento do consumo privado e do investimento, especialmente em novas moradias (TORRES FILHO, 1997, p. 9-10).
13. Os New Industrialized Economies (NIE) tambm conhecidos como New Industrialized Countries (NIC) asiticos
so subdivididos nos seguintes pases: i) NIE de primeira gerao (NIE-1) Cingapura, Coreia do Sul, Hong Kong e
Taiwan; e ii) NIE de segunda gerao (NIE-2) Filipinas, Indonsia, Malsia e Tailndia.
123 A Articulao Produtiva Asitica e os Efeitos da Emergncia Chinesa
pas na cadeia industrial regional se deu em momentos subsequentes,
14
segun-
do suas especializaes produtivas, os avanos nos seus processos internos de in-
dustrializao e as mudanas geoeconmicas e geopolticas. Em um primeiro
momento, as corporaes japonesas migraram para pases mais desenvolvidos da
regio Coreia, Taiwan e Hong Kong, principalmente com maior capacidade
exportadora. Os NIE-1, embora tivessem estruturas industriais bastante comple-
xas e modernas, apresentavam custos de trabalho relativamente mais baixos que
o Japo e possuam melhores condies para acessar o mercado externo,
15
alm
de um conjunto de polticas dirigidas para absorver setores exportadores de alto
contedo tecnolgico (MEDEIROS, 1997).
Dessa perspectiva, alguns analistas sugeriram que, apesar de terem existido
claros esforos de Taiwan, Coreia e Hong Kong para atrair investimentos estran-
geiros em inovaes de produtos e processos, bem como pressionar a indstria
nacional no sentido de avanar na fronteira tecnolgica, eles se aproveitaram das
suas vantagens de custos em setores mais sofsticados. Com efeito, o dinamis-
mo exportador e econmico se deu sobre a linha de menor resistncia, ou seja,
seguindo uma escala de gradual de facilidade no acesso tecnologia e linhas de
produto onde a competio por custos e preos tem relevo e para os quais o apa-
relho produtivo preexistente po[dia] ser parcialmente convertido (FERREIRA
JR.; SANTOS FILHO, 1990, p. 127). Portanto, o deslocamento da indstria
japonesa foi resultado tanto da capacidade tecnolgica e produtiva previamente
acumulada por esses pases, como pelo diferencial dos custos existentes.
Contudo, o aumento de competitividade dos grandes grupos empresariais desses
pases em setores dinmicos e a mudana na esfera internacional alteraram esse cenrio.
Depois da crise do incio dos anos 1980, essas naes passaram a adotar
polticas macroeconmicas bastante expansionistas subsdios fiscais, crdi-
to preferencial etc. , visando sustentar o dinamismo de suas economias.
16
14. No componente de movimento sequencial do padro de industrializao de gansos voadores, inicialmente os
NIE-1 substituem as exportaes japonesas no mercado mundial, para depois o mesmo fenmeno acontecer entre o
grupo e os NIE de segunda gerao mais a China, etc. Em termos de parcela das exportaes, este processo cria uma
sequncia de Us invertidos. Esses produtos tendem a no estar num nvel muito alto da curva de aprendizado, mas
praticamente todos ainda so de demanda dinmica das importaes da [OECD]. A caracterstica essencial que a
capacidade produtiva das exportaes transferida sucessivamente do Japo para os NIE-1, em seguida dos NIE-1
para os NIE de segunda gerao (NIE-2), a China e outros pases asiticos. (PALMA, 2004, p. 430).
15. Como destacado, o apoio norte-americano mercado consumidor e emprestador de ltima instncia se deslocou
do Japo para as demais economias do Leste e Sudeste Asitico.
16. Interessados em promover a indstria eletrnica como base de um novo ciclo de expanso, o governo coreano
estimula as suas grandes empresas a buscar parcerias com as lderes japonesas, oferecendo-lhes a sua capacidade
de mobilizar recursos e mo-de-obra qualicada para produzir componentes e/ou para montar produtos eletrnicos
em regime de [Original Equipament Machine]. Simultaneamente, as empresas coreanas passam a adquirir unidades
fabris completas do Japo (sistema de turn key) para acelerar o processo de aprendizado, particularmente nos setores
do complexo-eletrnico (bens de consumo, de telecomunicaes, informtica, semicondutores na rea de memrias) e
tambm na rea de bens de capital intensivos em eletrnica (equipamentos de automao industrial). Engenheiros ja-
poneses desses setores foram contratados para trabalhar nos ns de semana, com salrios tentadores, para transmitir
os seus conhecimentos tcitos aos colegas coreanos em processo de formao. (COUTINHO, 1999, p. 366).
124 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
No entanto, o seu diferencial residiu na capacidade de conduzir polticas
industriais fortemente protecionistas que tinham como meta aumentar sua
capacidade de exportar e penetrar em mercados estrangeiros. Como ressal-
taram Ferreira Jr. e Santos Filho (1990), nesse perodo, os principais instru-
mentos da poltica industrial de Coreia e Taiwan obedeceram aos critrios
de flexibilidade e seletividade e priorizaram as seguintes esferas: setores de
alto contedo tecnolgico, produtos mais dinmicos nas economias desen-
volvidas e upgrading na escala de bens exportados. Isso fez que a produo
e as exportaes se concentrassem em produtos do complexo eletrnico,
tais como computadores, terminais, TV em cores, videocassetes, desk drives,
equipamento telefnico, semicondutores etc.
Ao lado dessas polticas, os incentivos e as parcerias estratgicas realizadas
com as empresas japonesas que estavam ingressando nesses pases tambm
foram fundamentais a fm de desenvolver os setores de eletrnica e de tecnologia
de informao. Em relao Coreia do Sul, por exemplo, a partir desse conjunto
de polticas que foi fortalecida pelo apoio nipnico, as grandes corporaes do
pas conseguiram ingressar na ponta tecnolgica das principais indstrias globais.
Isto permitiu a essas corporaes saltarem para a terceira revoluo industrial
e tecnolgica, constituindo um complexo eletrnico competitivo, assim como
consolidarem-se como um ncleo de vanguarda, de projeo global, em matria
de marcas prprias, tecnologia endogenamente desenvolvimento e grandes em-
presas de porte mundial (COUTINHO, 1999, p. 368).
O rpido aumento de competitividade das empresas dos NIE-1, particular-
mente as coreanas, e a ocupao de mercados antes dominados pelos pases de-
senvolvidos motivaram um movimento de resposta destes ltimos, com destaque
para os Estados Unidos. Com efeito, foram efetivadas retaliaes comerciais para
essas naes asiticas, a exemplo do que j havia ocorrido com os japoneses, que
tomaram forma de presses sobre a poltica cambial e eliminao de benefcios
econmicos s exportaes. No caso da Coreia do Sul, desde 1988, as presses
norte-americanas visando diminuir o dfcit comercial que os Estados Unidos
ento possuam com este pas [foram] no sentido de uma maior valorizao do
won (MEDEIROS, 1998, p. 164). J Hong Kong e Taiwan, alm da prpria va-
lorizao de suas moedas, viram as concesses comerciais norte-americanas serem
eliminadas, em 1989, depois da extino do Sistema Generalizado de Preferncia
para com esses pases (LAZZARI, 2005).
Como as condies para exportar NIE-1 se tornaram extremamente desfa-
vorveis, em um cenrio em que o Japo tambm continuava enfrentando dif-
125 A Articulao Produtiva Asitica e os Efeitos da Emergncia Chinesa
culdades para vender externamente de seu mercado interno,
17
os demais pases
da regio com menor grau de desenvolvimento os NIE-2 e a China passaram
a absorver os investimentos direcionados para exportao desses primeiros pa-
ses. Em primeiro lugar, esse processo se apoiou nos baixos custos de produo
e na inexistncia de fortes restries para acessar os mercados norte-americanos
e europeus (CUNHA, 1998). Em segundo lugar, sustentou-se na formulao
de estratgias cambiais da China e dos NIE-2 que, a despeito de suas diferen-
as, possibilitou a manuteno de suas moedas depreciadas em relao ao dlar
norte-americano, diferentemente do iene, do won e do dlar de Cingapura.
18
Em
terceiro lugar, esteve ligado dinmica dos fuxos de IDE asiticos dirigidos para
exportao, que j vinha se formando desde a poca em que as empresas japonesas
comearam a se deslocar para os NIE-1. Essa dinmica somente foi possvel por
conta dos alinhamentos cambiais entre o dlar e o iene e entre este e as moedas
asiticas e pela relativa complementaridade entre a produo asitica sobretudo
na tecnologia de informao e a economia norte-americana (MEDEIROS,
2010, p. 270) e tambm em razo de uma poltica industrial dirigida para pro-
mover esses setores exportadores.
Todavia, em meados dos anos 1990, a conjuntura em que os NIE-2 se encon-
travam comeou a criar restries para manter o crescimento das suas exportaes
e de suas estruturas de produo. Nesse sentido, dois fatores assumiram grande
relevncia: i) o estreitamento das oportunidades para a acumulao do capital nes-
ses pases; e ii) a reduo dos preos internacionais dos produtos manufaturados.
O primeiro fator respondeu incapacidade de se manter custos to baixos de
produo, bem como difculdade dessas economias em continuar agregando valor
sua produo de bens intensivos em tecnologia. Como sugeriu Cunha (1998, p.
11) foi a existncia de um limite capacidade de incorporao de setores indus-
17. s restries impostas nos Acordos de Plaza e do Louvre acrescentaram-se a poltica de desvalorizao benigna
do dlar, executada entre 1992 e 1995, que imps perdas monumentais aos bancos japoneses, [cujas carteiras
tinham] grande quantidade de ativos denominados em dlar, e, consequentemente, impondo uma valorizao brutal
da moeda japonesa (CINTRA, 2000, p. 195).
18. Segundo os documentos ociais, Coreia do Sul, Cingapura, Malsia e Indonsia foram classicadas como pases que
possuam um sistema cambial com utuao suja, enquanto a Tailndia tinha uma taxa de cmbio xa que variava se-
gundo a uma cesta de moedas. (...) Apenas as Filipinas foram classicadas como um pas que possua um sistema cambial
utuante. Todavia, [as trajetrias de cada moeda apresentaram notveis diferenas]. (...) Tanto a rpia da Indonsia, como
o peso lipino se depreciaram extraordinariamente em relao ao dlar norte-americano, em termos nominais, no perodo
1980-1995: na mdia anual, a rpia se depreciou de 627 para 2.249 unidades por dlar norte-americano, e o peso se
moveu de 7,51 para 25,71 unidades por dlar norte-americano. Em contraste, as outras moedas mostraram relativa es-
tabilidade frente ao dlar norte-americano no mesmo perodo, [apesar de algumas moedas terem se depreciado]. O won
coreano se depreciou de 607,43 para 881,45 unidades por dlar norte-americano, entre 1980 e 1986, mas se apreciou
para 671,46 unidades por dlar norte-americano em 1989. O dlar de Cingapura mostrou uma restrita apreciao em
relao ao dlar norte-americano, saltando de 2,14 para 1,42 unidades por dlar norte-americano entre 1980 e 1995.
O ringgit malaio e o baht tailands se desvalorizaram de forma modesta frente ao dlar norte-americano, no mesmo
perodo; o ringgit caiu de 2,18 para 2,5 unidades por dlar e o baht pulou de 20,48 para 24,69 unidades por dlar. [No
caso da China, neste mesmo perodo, houve uma grande desvalorizao do iuane frente ao dlar: a taxa real de cmbio
saiu de 0,59 iuane por dlar em 1980 para 5,58 em 1995] (TAKAGI, 1999, p. 188-89, traduo livre).
126 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
triais modernos [que impossibilitou a permanncia] de taxas de crescimento to
elevadas [nesses pases] como as encontradas nos momentos de suas industrializa-
es pesadas. Foi dessa perspectiva que chamou ateno a passividade das polticas
industriais dos NIE-2, no somente em termos de avanar na fronteira tecnolgica
por meio de gerao de inovaes, mas tambm de incorporar tecnologias de ponta
sua indstria local (MEDEIROS, 2010). O segundo fator foi produto, a princ-
pio, da crescente padronizao dos insumos da indstria eletrnica e microeletr-
nica, em que muitos desses pases tinham concentrado suas exportaes, e depois
da rpida ampliao da oferta de produo desses pases e do ingresso da China
como grande competidor industrial da sia (PALMA, 2004, p. 407).
O efeito China tambm minimizou as possibilidades desse conjunto de
naes crescerem a partir do mercado norte-americano. Isto , o aumento das
exportaes chinesas para os Estados Unidos ocupou parcelas de mercados ante-
riormente dominadas pelos produtos dos NIE-2. Esse fato associado aos grandes
desequilbrios comerciais existentes com o Japo
19
e valorizao cambial pro-
vocou uma rpida deteriorao das contas de transaes correntes de Malsia,
Tailndia, Indonsia e Filipinas (CUNHA, 1998; PALMA, 2004).
A partir de 1995, quando se iniciou um movimento de depreciao da moeda
japonesa em relao ao dlar
20
e da indexao das moedas dos outros pases asiticos a
esta ltima, houve uma contnua apreciao das moedas dos NIE-2 frente ao iene e,
ao mesmo tempo, uma ampliao dos seus coefcientes de importao e dos dfcits
nas suas contas de servios fatores. Esse cenrio, ao lado da prpria desvalorizao do
iene e da recesso da economia japonesa, eliminou parte dos incentivos de transfern-
cia da produo exportadora nipnica para esses pases. Com isso, os fuxos de IDE
japoneses conectados s exportaes dos NIE-2 se reduziram signifcativamente, mo-
difcando a estrutura de fnanciamento externo desses pases que passou a ser realizada
predominantemente por capitais de curto prazo. Isto somente foi possvel a partir de
uma rpida e ampla abertura das contas de capitais desses pases para receber investi-
mentos de portflio notadamente de curto prazo (MEDEIROS, 1998, 2010).
21
Foram esses dois aspectos valorizao cambial e mudana do padro de f-
nanciamento externo em um cenrio de amplos desequilbrios comerciais e de
abertura fnanceira, que precipitaram as crises externas nos NIE-2 assim como
nos NIE-1 na segunda metade dos anos 1990. A fragilizao da situao externa
19. No binio 1995-1996, o dcit comercial dos NIE-2 com o Japo foi, respectivamente, de US$ 15,2 bilhes e
US$ 9,4 bilhes.
20. A partir de 1995, houve uma reverso daquele processo de desvalorizao benigna do dlar, iniciando um
movimento de valorizao do dlar que durou at o m dos anos 1990 (CINTRA, 2000).
21. No que diz respeito ao processo de liberalizao nanceira que os anos 1990 testemunharam na Coria, Tailn-
dia, Malsia, Formosa, Indonsia, Filipinas amplo aprofundamento e extenso. (...) em todos estes pases criaram-se
incentivos ao investimento no mercado de aes, relaxaram-se os limites nos investimentos estrangeiros em aes,
ampliou-se o acesso de rmas internacionais de seguros ao mercado domstico (MEDEIROS, 1998, p. 168).
127 A Articulao Produtiva Asitica e os Efeitos da Emergncia Chinesa
e as restries impostas expanso da capacidade produtiva dos NIE-2 abriram
espao para consolidao da China como centro manufatureiro da sia. Ao con-
trrio dessas economias, a chinesa sustentou uma poltica que permitiu continuar a
ampliao e a modernizao da sua indstria, assim como a realizao de uma in-
sero ativa na economia internacional. Isto tambm se explicou pela confgurao
de um cenrio externo e interno bastante favorvel. Esse conjunto de questes foi
responsvel pela emergncia da China condio de economia mais dinmica da
sia. A reboque desse processo a China alterou a diviso regional de trabalho, tanto
dentro como fora do esquema dos gansos voadores. Esses so os temas da seo 3.
3 A NOVA GEOECONOMIA DA SIA: O CICLO VIRTUOSO CHINS DEPOIS DA
CRISE ASITICA E OS EFEITOS SOBRE A ARTICULAO PRODUTIVA REGIONAL
Aps a crise fnanceira asitica de 1997, a China assumiu gradualmente grande
centralidade no novo desenho das relaes econmicas na sia. Do ponto de vista
geopoltico e geoeconmico, o estabelecimento da relao siamesa entre China e
Estados Unidos conforme denominada no captulo 1 deste livro modifcou
de modo importante a articulao econmica existente na regio.
22
Na medida
em que a China deslocou parte importante das indstrias exportadoras dos seus
vizinhos (NIE-1 e NIE-2) destinadas aos Estados Unidos, os pases dessas regies
acabaram desviando suas exportaes para o mercado chins (MCKINNON;
SCHNABL, 2003). Entre essas exportaes, destacaram-se tanto os bens de ca-
pitais e intermedirios utilizados para montagem de produtos fnais, como os
durveis aparelhos eletroeletrnicos, linha branca etc.
Ademais, a maior capacidade de fnanciamento das empresas e dos bancos
chineses, em um cenrio de rpido crescimento do consumo interno das fam-
lias e das empresas motivou a realizao de amplos investimentos nos pases em
desenvolvimento da sia, alm de promover maior importao de bens primrios
e manufaturados (MEDEIROS, 2006). Desse modo, a China foi assumindo de
modo crescente o papel anteriormente exercido pelos Estados Unidos de
consumidor e fnanciador de ltima instncia para o continente asitico, destaca-
damente para os pases menos desenvolvidos.
A indstria regional asitica, por sua vez, tambm se favoreceu do forte cres-
cimento da estrutura exportadora chinesa. O cmbio subvalorizado e a estabilidade
22. No ambiente poltico, a China, por exemplo, tem promovido a formao de blocos regionais, bem como tem assu-
mido crescentemente o papel de lder asitico em desenvolvimento nas negociaes internacionais. Este captulo, por
sua vez, no trata desta temtica. Para uma discusso, ver Shambaugh (2005).
128 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
fnanceira,
23
em um pas onde os incentivos econmicos s exportaes e dissemi-
nao de indstrias intensivas em tecnologia eram imensos, permitiram o aprofun-
damento do esquema dos gansos voadores a partir da China (MEDEIROS, 2010;
MCKINNON; SCHNABL, 2003). Em uma ponta, o Japo e os pases dos NIE-1
continuaram transferindo suas empresas para a China a fm de se manterem compe-
titivas internacionalmente. Na outra, a partir da internalizao e do desenvolvimento
de parte das cadeias mais dinmicas dos ramos de maior contedo tecnolgico, a Chi-
na tem deixado gradativamente para pases menos desenvolvidos a realizao de ati-
vidades mais simples dessas cadeias, bem como os setores intensivos em mo de obra.
Em suma, a emergncia chinesa depois da crise de 1997 infuenciou
sob diversos aspectos a economia asitica. Seja nos pases exportadores de
produtos bsicos, seja nas naes mais desenvolvidas que possuem indstrias
mais sofsticadas em nvel global, a geoeconomia imposta pela China trouxe
mudanas importantes para as redes de comrcio e investimentos previamen-
te existentes. No entanto, como observado, essa geoeconomia apenas ganhou
forma com a gesto de um conjunto muito especfco de polticas econmicas
no setor externo chins.
Por conta disso, essa seo divide-se em duas partes. A primeira discute o papel
das polticas econmicas que apoiaram a emergncia da China na sia no perodo re-
cente, comparando-as com aquelas executadas pelos pases que sofreram mais acen-
tuadamente com a crise de 1997 (NIE-1 e NIE-2). Partindo desse cenrio, a segunda
analisa as transformaes na dinmica da articulao econmica asitica, destacando
as novas caractersticas do comrcio exterior e dos investimentos regionais.
3.1 As polticas diferenciadas da China antes e depois da crise asitica de 1997
Diferentemente dos NIE-2, da Coreia e de Hong Kong onde a abertura econmi-
ca abriu espao para esses pases serem afetados negativamente pela crise asitica
no fm dos anos 1990, a trajetria chinesa foi marcada pela gesto de polticas
econmicas externas fortemente administradas. Nesse cenrio, o governo chins
tambm optou pela adoo de uma poltica industrial direcionada tanto para ex-
pandir a capacidade produtiva como para alcanar o upgrade tecnolgico.
Na poltica cambial, enquanto os demais pases asiticos viram suas taxas de
cmbio se valorizarem em relao ao dlar aps 1995, a China procurou manter a
estabilidade do valor do iuane como forma de subsidiar suas exportaes. Depois de
23. Os efeitos de sinergia dessa desvalorizao cambial atingiram os parceiros comerciais chineses, principalmente aque-
les que eram concorrentes em terceiros mercados. A elevada competitividade chinesa pressionou o mercado cambial dos
vizinhos, uma vez que causou uma deao dos preos denominados em dlar dos bens e servios comercializados na
regio. Felizmente, [depois da crise] a China no depreciou sua moeda, mesmo perdendo competitividade para os pases
vizinhos e sofrendo presses deacionrias no mercado interno. Ao resistir tempestade que passou nos mercados
cambiais asiticos, China e Hong Kong evitaram que as desvalorizaes das outras moedas asiticas no fossem to acen-
tuadas, alm de auxiliarem na recuperao desses mesmos pases. (MCKINNON; SCHNABL, 2003, p. 4, traduo livre).
129 A Articulao Produtiva Asitica e os Efeitos da Emergncia Chinesa
unifcar o mercado cambial em 1994,
24
ano em que a moeda chinesa sofreu grande
desvalorizao frente ao dlar saiu de uma relao de 5,76 iuane por dlar em
1993 para 8,62 em 1994 , a taxa de cmbio nominal permaneceu praticamente
inalterada em 1997, o cmbio nominal chegou a 8,28 iuane por dlar e a taxa
real sofreu uma contnua depreciao at 1997. Entre 1997 e 2005, a China no
alterou essa estratgia, ao passo que o valor do iuane em relao ao dlar continuou
estvel o que permitiu classifcar o regime cambial chins como fxo.
25
A preservao dessa poltica cambial, alm de servir como incentivo s expor-
taes, permitiu China no ser impactada pelos efeitos deletrios da crise asitica
de 1997. Como essa crise criou um grande cenrio de instabilidade das economias
e das moedas desses pases, o governo chins procurou evitar a incidncia de movi-
mentos especulativos contra o mercado de cmbio e manter sua moeda estvel. Esta
estabilidade esteve relacionada tambm estratgia de ampliar a participao do
iuane nas trocas regionais, principalmente depois que as moedas de vrios pases do
continente se desvalorizaram rapidamente, em razo das abruptas sadas de capital.
Juntamente com esse aspecto, a conservao do valor do iuane em um patamar
ainda depreciado fez que a moeda chinesa passasse a exercer a funo de ncora
asitica (LEO, 2010b). Nesse sentido, desde 1997 o iuane vem sendo usado cres-
centemente em operaes ofshore na regio (MEDEIROS, 2006, p. 384).
A capacidade do governo chins de controlar o valor da sua taxa de cmbio
somente foi possvel devido execuo de fortes controles de capitais. Embora
em 1996 tivesse sido instaurada a livre conversibilidade da conta-corrente que
autorizou aos residentes e no residentes instalados na China o acesso s moe-
das estrangeiras , a autoridade monetria chinesa (Banco do Povo da China)
manteve forte aparato regulatrio na conta capital. At a crise asitica de 1997, a
liberalizao nesta conta tinha sido bastante restrita, tendo como principal avano
a permisso para joint ventures estrangeiras fnanciar sua produo local de bens
exportados com os lucros obtidos em iuane. Ademais, autorizou-se a converso
desses lucros em moeda estrangeira dentro do mercado de swaps (YU, 2008).
24. Entre 1980 e 1994, a taxa de cmbio nominal, cuja mdia em 1980 era de 1,50 iuane para cada dlar, se depre-
ciou ininterruptamente e intensamente at descender, naquele ltimo ano, mdia de 8,27 iuane por dlar. Ao lado
da forte desvalorizao da moeda, em 1984 ocorreu uma alterao estrutural no mercado de cmbio, que passou a
dividir-se em dois compartimentos separados. O primeiro era o ocial, administrado por meio de uma taxa utuante,
e o segundo era o mercado de swaps, com acesso restrito s empresas localizadas nas zonas especiais e s estatais
especializadas no comrcio exterior. Nesse segundo mercado, a taxa de cmbio era ainda mais desvalorizada, de modo
a favorecer mais fortemente as exportaes (LEO, 2010b). Essa situao permaneceu at 1994, quando ocorreu a
unicao da taxa de cmbio, com signicativa desvalorizao do iuane, e se estabeleceu um mercado interbancrio
de divisas em Xangai, de forma a substituir os centros de swaps (MEDEIROS, 1999, p. 402).
25. Ainda que entre 2005 e 2008 a China tivesse adotado um sistema cambial exvel no qual o cmbio passou a u-
tuar em uma banda estreita, o valor do iuane no sofreu bruscas alteraes. Entre 2004 e 2008, o cmbio se apreciou
pouco caindo de 8,27 para 6,95 iuane por dlar. E, ainda assim, aps a ecloso da crise nanceira internacional de
2008, a China novamente xou o valor do iuane em relao ao dlar como forma de responder retrao da economia
internacional e manter sua posio de ncora das moedas asiticas (LEO, 2010b).
130 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
Ainda que se esperasse maior aprofundamento da abertura financeira
a partir da unificao do mercado de cmbio e da livre conversibilidade da
conta-corrente, a crise asitica serviu justamente como pretexto para que
isso no ocorresse. Ao contrrio, o que se observou foi um reforo no ape-
nas da regulamentao da conta de capital, principalmente no que se refere
sada de recursos, mas tambm a retomada de algumas restries para a
conta-corrente e do controle direto sobre operaes financeiras. Conforme
lembrou Yu (2008, p. 17, traduo livre), depois de 1998,
(...) o governo chins enviou milhares de auditores para fscalizar as empresas e ins-
tituies fnanceiras a fm de rastrear e recuperar os recursos adquiridos por meio de
operaes [ilegais de cmbio]. Esse processo limitou a sada de capitais e reduziu as
operaes cambiais realizadas com moeda estrangeira.
Alm de controlar a conta capital, o processo de abertura foi conduzido de forma
pragmtica, regulando o perfl e o timing de liberalizao, cuja diretriz principal foi a per-
misso para entrada do capital estrangeiro no setor produtivo. Contudo, essa abertura se
deu apenas em cadeias industriais mais dinmicas da economia internacional a partir da
atrao de investimentos estrangeiros em modernizao e expanso da capacidade produ-
tiva. A entrada de outras formas de investimento internacional, como os investimentos
de portflio e os emprstimos bancrios, foi desestimulada e controlada. Apesar disso, os
limites impostos para entrada e sada de recursos no afetaram a capacidade da China de
absorver o capital estrangeiro via IDE para o interior de sua indstria. Em virtude disso,
o regime de controle de capitais, orientado para minimizar a dependncia de recursos
de curto prazo e geradores de dvida, esteve desenhado para incentivar o infuxo de longo
prazo, particularmente o IDE. (BASTOS; BIANCARELLI; DEOS, 2004, p. 11).
Na viso do governo chins, o IDE era um elemento-chave considerado a
melhor maneira de se alcanar trs diferentes tarefas: i) aumentar a participao
do pas nas exportaes mundiais; ii) favorecer seu acesso s fontes externas de
capital e tecnologia avanada; e iii) introduzir modernas tcnicas administrati-
vas nas empresas chinesas. Ademais, a entrada de IDE foi estimulada para tam-
bm ampliar a concorrncia, expandir a estrutura produtiva, assim como dis-
ponibilizar recursos e tecnologias para os setores tpicos da Terceira Revoluo
Industrial tecnologia de informao, microeletrnica etc. (ACIOLY, 2005).
A despeito da ampliao da liberalizao na conta capital iniciada nos anos
2000,
26
a abertura fnanceira tem sido bastante restrita e continuou concentrada
26. De todo modo, mesmo antes de sua entrada histrica na Organizao Mundial do Comrcio, em 2001, a China vem encami-
nhando um processo de abertura limitada, com reduo de tarifas de importao e relaxamento de barreiras entrada no setor de
servios, inclusive nanceiros, procedendo tambm consolidao de um marco legal ligeiramente mais propcio aos investidores.
(...) No obstante estes controles, pode-se perceber movimentos lentos e cautelosos de relaxamento das restries. A iniciativa mais
signicativa deu-se em 2002, com a criao da certicao QFII (Qualied Foreign Institutional Investor), que permite a aplicadores
externos, selecionados e certicados pela CSRC (China Securities and Regulatory Commission), adquirirem aes denominadas em
moeda local (A shares), bem como ttulos de dvida, privados e governamentais, tambm emitidos em moeda local. No entanto, a
certicao QFII exige que os aplicadores mantenham posies superiores a um ano, alm de respeitarem vrias restries pruden-
ciais scalizadas pelo governo. (BASTOS; BIANCARELLI; DEOS, 2004, p. 12). Para uma discusso mais detalhada, ver Yu (2008).
131 A Articulao Produtiva Asitica e os Efeitos da Emergncia Chinesa
nos investimentos produtivos, particularmente naqueles que foram efetivados por
meio de joint ventures com empresas chinesas. Alm de fexibilizar as regras para
a entrada do IDE, o governo chins formulou uma poltica fscal e fnanceira
bastante favorvel a fm de absorver esses investimentos, bem como relaxou as
restries jurdicas para o acesso dessas empresas ao seu mercado.
27
Com a crise da sia, esse norte da poltica de abertura na conta capital foi
reforado. Ao contrrio de vrios pases da regio, que no momento anterior a
1997 foram inundados por capitais externos de curto prazo graas aos proces-
sos abruptos de liberalizao fnanceira e viram minguar a entrada do IDE, a
China manteve fechada a entrada dos demais tipos de investimentos que no os
diretos.
28
Isso foi resultado da estrutura de reformas chinesas na qual a abertura
das fnanas esteve subordinada aos objetivos da poltica industrial e de insero
externa autnoma do pas (ACIOLY, 2005; MEDEIROS, 2010).
Por um lado, a entrada do IDE permitiu ao pas solidifcar sua posio exter-
na por duas vias: i) acumulando recursos na conta capital oriundos dos prprios
investimentos das indstrias globais; e ii) apoiando a formao de uma slida
base exportadora que se refetiu em crescentes supervits da balana comercial.
Por outro lado, a entrada de capital estrangeiro sob forma de IDE possibilitou
o catching-up da indstria chinesa. O acesso das corporaes estrangeiras foi fa-
cilitado no somente para realizar exportaes e atuar em setores de tecnologia
de ponta, mas tambm para aquelas que se associassem s empresas chinesas por
meio de joint ventures. Isso auxiliou a insero da indstria chinesa nas cadeias de
produo global, permitindo a diminuio no diferencial entre a fronteira tecno-
lgica nacional e internacional. Por isso, as frmas domsticas chinesas mais pro-
dutivas [foram] aquelas que possu[ram] parceiros estrangeiros, participa[ram] de
mercados internacionais ou se defronta[ram] com a concorrncia internacional
(ZONENSCHAIN, 2006, p. 109).
27. Em meados da dcada de 1990, na poltica scal foi denida uma taxa bsica de impostos de somente 24% para
as rmas com investimento direto estrangeiro (FIEs) que estivessem instaladas em capitais de provncias e de regies
autnomas, sendo que esse valor podia chegar aos 15% se os projetos realizados envolvessem setores prioritrios in-
fraestrutura e alta tecnologia, especialmente. Em 1994 foi promulgada a Lei de Companhia, que uniformizava o aparato
legal de gesto de todas as empresas instaladas no territrio chins e tambm permitia novas formas de insero do
capital forneo no pas. Em 1995, o governo intensicou o esforo de transferir tecnologia das FIEs para as empresas
chinesas, a partir da criao das Regulamentaes Provisionais Guiando os Investimentos Estrangeiros. Essas regula-
mentaes facilitaram, mediante a concesso de incentivos scais e nanceiros, a entrada das empresas estrangeiras
naqueles casos em que houvesse instalao de centros de pesquisa e desenvolvimento (P&D), formao de setores de
cincia e tecnologia (C&T), internalizao de novas tcnicas de produo e gerenciamento entre outros (LEO, 2010a).
28. Ainda que tivesse sido obrigado a relaxar paulatinamente as polticas protecionistas para o IDE quando ingressou na
Organizao Mundial do Comrcio (OMC) em 2001, o governo chins construiu um forte aparato regulatrio para admi-
nistrar e controlar as empresas transnacionais estabelecidas no pas. Para isso, foi negociado um extenso cronograma de
transio para sua entrada na OMC, de acordo com seus interesses estratgicos (LARDY, 2003). Logo, a China conseguiu
simultaneamente se favorecer das vantagens comerciais existentes para os membros da OMC e controlar o aprofunda-
mento da abertura ao capital estrangeiro, fazendo que fosse possvel, por exemplo, estabelecer em 2007 um Catlogo
Orientador para o Investimento Estrangeiro. Este catlogo liberalizou a participao de novos tipos de investidores es-
trangeiros, desde que eles enriquecessem a composio industrial chinesa, particularmente no setor de alta tecnologia.
132 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
Esse foi outro ponto que diferenciou a trajetria chinesa dos demais pases
dos NIE-2. A escolha chinesa em atrair as tecnologias estrangeiras pertencentes
s transnacionais mais dinmicas do mundo para suas frmas locais correspondeu
a uma estratgia mais geral de modernizao e expanso da estrutura produtiva
nacional. Ou seja, em vez de aceitar suas vantagens comparativas e se especializar
nas etapas menos elaboradas das cadeias de produo regional, a China efetivou
um arcabouo de polticas que permitisse a que parte da sua cadeia produtiva
se posicionasse com um player global capaz de competir com as indstrias mais
desenvolvidas dos mercados de alta tecnologia.
(...) o que torna a trajetria chinesa bastante diferenciada da percorrida pelos
[NIE-2] o esforo de absoro do progresso tcnico por parte de frmas locais e de
deslocar o seu tipo de especializao. A agressiva poltica de absoro tecnolgica
das empresas estrangeira em parcerias com empresas chinesas constitui, junto com
esforo classicamente japons e coreano de formao de campees nacionais ver-
ticalmente integrados, uma caracterstica distintiva da China e totalmente distinta
da insero passiva na cadeia de valor adicionado que caracteriza tipicamente de
processamento de exportaes. Embora globalmente ainda seja modesto, notvel
o fato de que o esforo de P&D na China mais intenso nas empresas estatais e
nas empresas coletivas. (...) ao contrrio dos [NIE-2], que adotaram uma poltica
industrial mais passiva aos fuxos de IDE resultando num crescente descompasso
entre o crescimento das exportaes e do valor adicionado industrial, a China
combinou a estratgia do processamento de exportaes com a busca de maior
autonomia domstica permitindo manter uma concomitante expanso do valor
adicionado industrial (MEDEIROS, 2010, p. 284).
Mesmo adotando uma poltica fortemente administrada para o setor externo,
a China tambm no passou inclume aos efeitos da crise de 1997, uma vez que a
retrao da economia internacional, particularmente a asitica, impediu que a Chi-
na continuasse a expandir suas exportaes e atrair fuxos de IDE. Em razo deste
cenrio adverso, a China realizou um intenso esforo interno para acelerar o desen-
volvimento e a sofsticao de sua indstria. Com efeito, a expanso e as reformas
da indstria chinesa, que j vinham sendo implementadas a partir dos anos 1980,
29
foram intensifcadas nesse nterim. A retomada do ciclo expansivo chins, como
sublinhou Medeiros (2006), teve como base a ampliao dos investimentos das es-
tatais, principalmente aquelas ligadas ao setor de infraestrutura e de alta tecnologia.
Todavia, a execuo dessa estratgia ps-1997 se tornou factvel em razo
das transformaes que j estavam ocorrendo no interior da estrutura produtiva
chinesa. Em primeiro lugar, por meio da forte regulao estatal sobre o processo
de liberalizao para atuao do capital privado e estrangeiro, assim como da
criao de um sistema nacional de inovaes, as estatais chinesas tiveram a opor-
29. Sobre este tema, ver Li e Xia (2008), Medeiros (1999) e Leo (2010a).
133 A Articulao Produtiva Asitica e os Efeitos da Emergncia Chinesa
tunidade de criar e/ou explorar novos processos e produtos sem ter de enfrentar a
concorrncia desenfreada das outras empresas. Em segundo lugar, o papel das es-
tatais foi deslocado para realizao de investimentos de longo prazo em vrios se-
tores estratgicos que, em geral, estavam encadeados. Para alcanar esse objetivo,
o governo chins forou a conglomerao das estatais visando aumentar o nvel de
competitividade internacional e o poder de alavancagem, bem como modernizar
o sistema organizacional e produtivo dessas empresas.
30
Foram essas diretrizes da
poltica industrial implementada no perodo anterior crise asitica que permi-
tiram s empresas estatais manterem as altas taxas de crescimento econmico do
pas (LEO, 2010a; ZONENSCHAIN, 2006; LI; XIA, 2008).
Portanto, a partir de meados da dcada de 1990, o perfl da insero externa
chinesa foi diferenciado se comparado ao dos NIE-2 com exceo da Malsia
31
e de
outros pases mais desenvolvidos da regio. Em suma, a China sustentou uma taxa de
cmbio depreciada sem grandes oscilaes, mesmo depois do pice da crise asitica no
binio 1997-1998, que apenas foi possvel a partir da execuo de extensos e rigorosos
controles de capital. Na contramo disso, os outros pases asiticos depois de verem
suas taxas de cmbio se valorizar em 1995 sofreram bruscas desvalorizaes de suas
moedas ao longo da crise asitica, entre outros motivos, por causa da ampla abertura
fnanceira. Enquanto essa abertura em pases como Indonsia, Tailndia, Coreia do Sul
e Hong Kong signifcou a entrada de diferentes tipos de capitais, inclusive aqueles mais
volteis e de curto prazo, na China foi direcionada apenas para o IDE que, em geral,
so realizados no longo prazo e esto voltados, primordialmente, para setores exporta-
dores geradores de divisas. Isso buscava tanto impedir a incidncia de amplas futuaes
no mercado cambial, como atrair tecnologia e ampliar a base exportadora chinesa.
Esse ltimo aspecto representou uma diferena importante na conduo
das polticas industriais entre os NIE-2 e a China. Na primeira regio nova-
mente com a Malsia como um caso diferenciado , essa poltica no procurou
desenvolver e criar uma indstria nacional moderna e plenamente competitiva na
fronteira tecnolgica; j na segunda, essa poltica foi bastante agressiva e articu-
30. Essa estratgia de conglomerao correspondeu ao que cou conhecido na literatura como a poltica de manter
as grandes e deixar as pequenas. Li e Xia (2008, p. 43) trataram deste tema: dentro dessa poltica de manter as
grandes e deixar as pequenas (grabbing (keeping) the big ones and releasing the small ones), as pequenas empresas
estatais de setores considerados no estratgicos acabaram sendo privatizadas, enquanto que as grandes empresas
estatais de setores estratgicos permaneceram nas mos do Estado. Com as reformas econmicas, essas grandes em-
presas deixaram de ser unidades de produo da economia planicada e se converteram em centros produtivos com
alta capacidade de investir e de gerar lucros, caracterizados por grande autonomia gerencial.
31. Segundo o trabalho de Kwan (2002), a Malsia conseguiu avanar tecnologicamente em sua produo exportado-
ra em relao aos demais NIE-2 e China, aproximando-se nesse sentido do Japo e dos NIE-1. No por outra razo,
que o esforo em P&D malaio tem se mostrado muito superior aos dos outros trs NIE-2 (Filipinas, Tailndia e Indon-
sia). Em 2005, por exemplo, os gastos em P&D em relao ao PIB da Malsia (cerca de 0,6%) eram quase o triplo dos
realizados pela Tailndia (0,23%) e superavam em mais de cinco vezes os efetuados por Filipinas (0,11%) e Indonsia
(0,04%). Ademais, a Malsia conseguiu formar alguns grupos industriais capazes de concorrer em setores sosticados
internacionalmente, bem como realizou polticas macroeconmicas expansionistas e que permitiram a regulao do
seu processo de abertura ver Bastos, Bincarelli e Deos (2004) sobre, por exemplo, a questo do controle de capitais.
134 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
lada ao capital estrangeiro a fm de permitir a criao de um grupo de indstrias
modernas, geradoras de inovaes e capazes de concorrer com as corporaes de
dentro e de fora da sia desenvolvida.
Esse conjunto de fatores foi importante para a China alcanar uma fun-
o primordial naquele esquema de desenvolvimento regional gansos voado-
res e trazer novos elementos para forma de articulao dos pases da regio,
no entanto, sem a existncia de outros dois fatores isso no teria sido possvel.
So eles: i) no ambiente interno, a China adotou polticas macroeconmicas
e de crdito fortemente expansionistas que criou um cenrio favorvel para o
crescimento de suas indstrias; e ii) no ambiente externo, a China se benef-
ciou, de um lado, das oportunidades de investimento e acesso da tecnologia
de ponta proveniente dos demais estados da grande China (Hong Kong e
Taiwan, notadamente) e, de outro, da sua posio privilegiada para acessar o
mercado consumidor norte-americano.
32
Embora aquelas presses exercidas pelos norte-americanos sobre o comrcio
exterior asitico tivessem sido deslocadas para a China,
33
os Estados Unidos tive-
ram limitada sua capacidade de enquadrar o comrcio externo chins vis--vis
ao observado nos outros pases da regio. Isto se explicou pela forte correlao en-
tre a expanso da indstria norte-americana e da chinesa, materializada no acele-
rado crescimento dos investimentos diretos realizados pelas empresas dos Estados
Unidos na China, e pela deteno de grandes volumes dos ttulos do Tesouro dos
Estados Unidos por parte do governo chins.
3.2 As transformaes na articulao produtiva asitica a partir da
emergncia chinesa
A diviso regional de trabalho da sia sofreu signifcativas alteraes a partir da emer-
gncia chinesa. Nos gansos voadores, o upgrade tecnolgico alcanado pela China e
por outras naes envolvidas na rede de produo asitica, como a Malsia e a Coreia
do Sul afetou o esquema dos gansos voadores de duas formas. Em primeiro lugar,
deslocou continuamente a concorrncia entre as indstrias da regio para setores
mais modernos e sofsticados. Em segundo lugar, abriu espao para que outros pases
menos desenvolvidos da regio pudessem ingressar nos gansos voadores.
32. Em uma escala menor, a China tambm se favoreceu da abertura do mercado europeu para suas exportaes. Em
2008, por exemplo, enquanto 18% das exportaes tinham como destino os Estados Unidos, 13% iam para a Unio
Europeia. Esses dois mercados mais do que compensaram os crescentes dcits comerciais chineses formados com os
pases asiticos mais desenvolvidos. Este ltimo tema debatido na seo 4 deste trabalho.
33. As presses se armaram essencialmente contra a centralizao cambial e a poltica de compra de reservas do
Banco Central chins que impedem que o iuane se valorize com o acmulo dos uxos lquidos de capitais (MEDEIROS,
2006, p. 184). Elas atingiram seu pice no primeiro semestre de 2005, quando o senador norte-americano do Partido
Democrata, Charles Schumer, apresentou um projeto de lei cujo objetivo era colocar uma tarifa de 27,5% sobre as im-
portaes norte-americanas de produtos chineses em funo da manipulao do valor do iuane (LEO, 2010b, p. 34).
135 A Articulao Produtiva Asitica e os Efeitos da Emergncia Chinesa
A destreza dos gansos seguidores (NIE-1, China e Malsia com maior des-
taque) em alcanarem as capacitaes tecnolgicas e produtivas de determinados
setores e/ou produtos do ganso lder (Japo) pressionou a indstria nipnica
(PALMA, 2004). Em resposta a este movimento, o Japo se viu obrigado a realizar
um esforo maior em termos de inovao e implementao de novas tecnologias
que permitisse sustentar sua posio de lder da cadeia produtiva regional.
34
A partir
disso, observou-se uma trajetria comum, em termos de desenvolvimento tecno-
lgico de parte dos gansos voadores, pela qual os pases buscaram ingressar em
ramos de produo antes dominados pelo Japo. Alm disso, algumas naes
particularmente onde os esforos de absoro e gerao interna de tecnologia foram
maiores (Coreia do Sul e China, por exemplo) mostraram-se capazes de avanar
na fronteira tecnolgica por meio do aperfeioamento ou do desenvolvimento de
inovaes em segmentos de alta tecnologia (MEDEIROS, 1997).
35
A partir do salto tecnolgico chins e dos demais pases, eles foram deixando
de realizar, de modo gradual e progressivo, aquelas atividades menos elaboradas da
cadeia tecnolgica montagem de produtos fnais, por exemplo e/ou mais inten-
sivas em trabalho. Isto permitiu que as regies mais pobres da sia cujos custos de
produo eram consideravelmente mais baixos pudessem se especializar nessas lti-
mas atividades, caracterizando-se em uma porta de entrada para os gansos voadores.
Fora dos gansos voadores, a ascenso chinesa provocou uma nova articu-
lao das economias asiticas em dois sentidos. Primeiramente, por meio da
rpida expanso do mercado interno chins que signifcou uma maior demanda
por produtos primrios e industrializados. Posteriormente, mediante o fortale-
cimento das plataformas de exportao da China em setores de alta tecnologia
(MEDEIROS, 2006).
As elevadssimas taxas de crescimento alcanadas pela economia chinesa
materializaram-se na forte ampliao do consumo interno tanto de alimentos,
como bens industriais durveis e no durveis e dos investimentos industriais
34. O xito dessa estratgia do Japo conrmou-se em uma srie de estudos (KWAN, 2002; JOSEPH, 2006; GINZ-
BURG; SIMONAZZI, 2005, por exemplo) cuja concluso foi a manuteno do padro hierarquizado e sequencial dos
gansos voadores, sendo o Japo o principal produtor das manufaturas mais sosticadas seguido pelos NIE-1, NIE-2
e China. Com efeito, todos os gansos se mostraram capazes de avanar na cadeia produtiva e tecnolgica, mas isso
no signicou, por enquanto, uma mudana na hierarquia de desenvolvimentos industriais previamente estabelecida.
Segundo Medeiros (2010, p. 282-283), por exemplo: O resultado encontrado [por Kwan (2002)] vai exatamente
ao encontro do previsto no [Esquema dos Gansos Voadores]. Embora todos os pases tenham elevado o seu grau de
sosticao, a hierarquia no mudou, as exportaes mais sosticadas originam-se no Japo, seguido pelos [NIE-1] os
pases do [NIE-2, com a Malsia frente] e nalmente pela China.
35. Em certos setores da indstria microeletrnica computadores pessoais, celulares, entre outros , estas corporaes
j tem se mostrado mais produtivas e capazes de concorrer e, inclusive, superar a fronteira tecnolgica imposta pela
indstria japonesa. No caso da Coreia do Sul, a transnacional LG j pode ser considerada como umas principais compe-
tidoras globais na rea de microeletrnica, aparecendo como empresa lder nos segmentos de computadores pessoais,
televisores, aparelhos de DVD e outros. Quanto China, as corporaes nacionais lderes na indstria eletrnica, tais
como Huawei e a ZTE, j adquiriram a tecnologia 3G (terceira gerao) e [tem se mostrado capazes de competir com
as empresas dos pases desenvolvidos], sendo consideradas importantes players globais (ZHANG et al., 2009, p. 9).
136 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
e em infraestrutura cuja expanso impulsionou a compra de mquinas, equi-
pamentos e outros produtos manufaturados (HADDAD, 2007; LEO, 2010a).
Isto fez que a China passasse a importar um volume crescente de produtos dos
pases vizinhos, tanto dos desenvolvidos, como dos em desenvolvimento. Nesse
sentido, a China se afrmou como um mercado para as exportaes asiticas.
A formao da ampla base exportadora chinesa, ainda que tivesse sido im-
pulsionada pelas empresas estatais, teve grande suporte do capital estrangeiro que
entrou no pas por meio das plataformas de exportao. Nestas plataformas, as
corporaes do exterior, em geral realizando alianas com empresas nacionais, des-
locavam etapas de montagem de bens fnais destinados exportao sejam os in-
tensivos em trabalho, sejam os de alto contedo tecnolgico apoiando-se na im-
portao de insumos produzidos em seus pases de origem. A partir desse processo,
foi inaugurado um novo fenmeno na dinmica econmica asitica que produziu
(...) dois mecanismos [distintos]. [Em primeiro lugar], um mecanismo substituti-
vo gerado pelas exportaes chinesas em terceiros mercados, particularmente nos
[Estados Unidos] sobre as exportaes asiticas. As plataformas exportadoras chi-
nesas de produtos intensivos em mo de obra deslocam produtores asiticos destes
bens e absorvem capitais voltados para a sua produo e exportaes mundiais.
Associado a estas exportaes existe, em segundo lugar, um mecanismo comple-
mentar, decorrente das importaes de insumos, partes e componentes e bens de
capital. Este duplo movimento atinge de forma diferenciada os pases [asiticos]
segundo suas capacitaes tecnolgicas especfcas favorecendo os mais avanados
na produo de bens de capital e aqueles produtores especializados de matrias-
-primas (MEDEIROS, 2006, p. 389-390).
Alm disso, as exportaes oriundas dessas plataformas, embora tivessem
se dirigido majoritariamente para os Estados Unidos e para a Europa, alcana-
ram os pases asiticos, em especial aqueles em desenvolvimento. Por conta da
forte competitividade desses produtos, bem como da proximidade geogrfca e
do estreitamento das relaes bilaterais, a China encontrou no Sul e no Sudeste
Asitico mercados para suas exportaes de manufaturados.
A anlise anterior confrma como a emergncia chinesa impactou praticamente
todas as regies da sia, tanto dentro como fora dos gansos voadores. Em termos
bilaterais, as relaes econmicas estabelecidas entre a China e o restante do continente
foram redesenhadas. Em funo disso, cabe avaliar as principais caractersticas das novas
relaes existentes, ressaltando as grandes diferenas existentes entre cada uma delas.
Para o Japo e os NIE-1 excluindo Hong Kong
36
a forte expanso das
plataformas exportadoras e do mercado interno chins benefciou suas empresas.
36. A partir desse momento, denomina-se este grupo (Japo, Coreia do Sul, Taiwan e Cingapura) de sia desenvolvida.
137 A Articulao Produtiva Asitica e os Efeitos da Emergncia Chinesa
A produo de bens de capital, assim como a de insumos manufaturados japo-
nesas, coreanas, taiwanesas e de Cingapura se aproveitaram da China de dois
modos. De um lado, favoreceu-se da crescente demanda chinesa para importar
mquinas e equipamentos necessrios realizao dos gigantescos investimentos
em infraestrutura e na indstria. Neste sentido, Haddad (2007, p. 19, traduo
livre) destacou que a eventual perda de mercados exportadores dos NIE-1 para
a China no teve efeitos negativos pelo fato dessa regio ter deslocado [parte de]
suas exportaes e seus investimentos em direo prpria China. De outro
lado, encontrou um mercado de processamento de exportaes em forte cresci-
mento. Com isso, o Japo e os NIE-1 viram o mercado chins deter um volume
crescente de suas importaes, bem como de investimentos diretos que eram em-
pregados nas etapas de montagem de bens acabados vendidos aos Estados Unidos
e, em menor escala, Europa (WONG, 2010; MEDEIROS, 2006).
37
No caso de Hong Kong, a relao econmica estabelecida com a China
foi relativamente distinta daquela observada entre este ltimo pas e a sia de-
senvolvida. Isto porque o crescimento das plataformas exportadoras chinesas,
assim como de sua indstria de base e intensiva em tecnologia criou uma din-
mica complementar entre o setor industrial e de servios das duas localidades.
A transferncia da base produtiva da ilha para a China formou o que Lemoine
e nal-Kesenci (2004) denominaram de um duplo comrcio transitrio, ou
seja, China e Hong Kong ampliaram suas relaes comerciais em um duplo sen-
tido. Por causa dos elevados custos locais de produo e do know-how adquirido
em servios fnanceiros e logsticos, as empresas de Hong Kong especializaram-
-se apenas em atividades de servios, dirigindo suas indstrias para o mercado
chins. Como resultado, a China passou a absorver grandes investimentos e ex-
portaes de partes e componentes da ilha que acabavam sendo utilizados na
produo de bens fnais, cujo destino era novamente Hong Kong. A partir do
seu mercado local, as empresas da ilha realizavam as tarefas ligadas aos setores de
servios antes de reexportar esses bens para as economias mais desenvolvidas de
fora do continente (MEDEIROS, 2006).
38
J a relao China/NIE-2 foi marcada por mudanas no apenas na esfera
produtiva, como tambm no setor primrio. Na produo, os bens chineses gerados
37. Historicamente o centro da produo compartilhada no sudeste asitico tem sido o Japo e segue sendo a partir
de suas grandes corporaes na TI. A China constitui hoje o maior mercado de componentes para a indstria japonesa,
e parcela signicativa dos investimentos nipnicos na China destina-se montagem desta rede de comrcio e produ-
o, comandada por suas grandes corporaes. (...) Tal como ocorre com o Japo, a estrutura do comrcio fortemente
conectada com os uxos de IDE. Estes, maciamente concentram-se em eletrnica, equipamentos de telecomunicao,
txteis e vesturio, petrleo e produtos qumicos e mquinas e equipamentos. Estes uxos de investimento respondem
por parcela importante da produo compartilhada envolvendo a China (MEDEIROS, 2006, p. 391).
38. Ao contrrio do que ocorreu com a sia desenvolvida (ver na seo 4), a China acumulou grandes supervits
comerciais com Hong Kong. Os grcos 1A e 2A, anexos, conrmam o impacto positivo para a China no seu comrcio
exterior bilateral com Hong Kong.
138 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
nas plataformas exportadoras exerceram forte presso competitiva sobre os NIE-
2, ao invs de estabelecer maior complementaridade com suas indstrias, como
observado na relao com Japo e Coreia do Sul, por exemplo. De vrias formas,
a dinmica chinesa exerceu uma presso competitiva nas economias dos [NIE-2],
cuja manifestao mais evidente foi disputa por IDE e pelas exportaes industriais
dirigidas para os pases desenvolvidos (WONG, 2010, p. 79). Apesar disso, estes
efeitos negativos foram mais do que compensados pela demanda criada nas pr-
prias plataformas. Ou seja, ao mesmo tempo em que as exportaes processadas
deslocaram empresas estabelecidas nos NIE-2, elas abriram oportunidades para que
estes pases tambm pudessem vender bens de capital e intermedirios necessrios
indstria de alta tecnologia chinesa (WONG, 2010).
No setor primrio, o aumento do consumo chins de commodities e ali-
mentos tambm benefciou os NIE-2. Isto porque as empresas chinesas am-
pliaram a importao e os investimentos nessa regio a fm de assegurar esses
recursos, que so cada vez mais essenciais para sustentar o seu crescimento eco-
nmico. Dois dos segmentos mais benefciados foram o de madeira encontrado
na Malsia e Tailndia,
bem como o de frutas e vegetais frescos das Filipinas
(HUMPHREY; SCHMITZ, 2007).
Essa ltima dinmica da relao China/NIE-2 tambm deu a outros pa-
ses do continente as regies menos desenvolvidas da Associao de Naes
do Sudeste Asitico (Association of South-East Asian Nations Asean)
39
e da
Associao do Sul da sia para Cooperao Regional (South Asia Association
for Regional Cooperation SAARC)
40
oportunidades a fm de explorar o gi-
gantesco mercado interno chins. Coxhead (2007, p. 1103) anotou as principais
caractersticas da relao chinesa com essas duas regies (SAARC e Asean-3):
A expanso chinesa refetiu num aumento da demanda e contribuiu para a elevao
dos preos globais de todos os tipos de produtos agrcolas e recursos naturais. Esse boom
afetou os produtores brasileiros de soja, os produtores chilenos de cobre, bem como os
fornecedores de energia de todo o mundo, mas a proximidade geogrfca e a abundncia
de recursos naturais do Sul e Sudeste Astico fez dessas regies as principais benefcirias.
Nesses locais, o cultivo de vrios produtos palmeiras, borracha, caf e outros cresceu
extraordinariamente desde os anos 1990. A pesca marinha e outras atividades martimas
tambm se expandiram aceleradamente.
Todavia, somente no caso da Asean-3, a evoluo tecnolgica dos gansos
voadores serviu como um mecanismo propulsor para fortalecer seu processo de
39. Segundo a Conferncia das Naes Unidas sobre Comrcio e Desenvolvimento (United Nations Conference of
Trade and Development Unctad), a Asean composta, alm dos NIE-2, pelas seguintes naes: Brunei, Camboja,
Laos, Mianmar, Cingapura e Vietn. Entre os pases menos desenvolvidos, destacam-se Vietn, Laos e Mianmar, cuja
denominao adotada, neste trabalho, Asean-3.
40. A SAARC tem como membros: Afeganisto, Bangladesh, Buto, ndia, Maldivas, Nepal, Paquisto e o Sri Lanka.
139 A Articulao Produtiva Asitica e os Efeitos da Emergncia Chinesa
industrializao. O upgrade tecnolgico da cadeia produtiva regional, em espe-
cial dos pases mais atrasados como a China, em um contexto de aumento dos
custos de produo e de acirramento concorrencial em setores de ponta dessa
cadeia, possibilitou a entrada da Asean-3 no esquema dos gansos voadores para
a realizao de tarefas mais intensivas em trabalho e/ou de baixo valor agregado,
inclusive no perodo recente em algumas cadeias de maior intensidade tecnol-
gica. Essas tarefas anteriormente eram produzidas nos ltimos gansos seguidores,
notadamente na China. Na medida em que as empresas desse ltimo pas passa-
ram a concentrar sua atuao em outras atividades, foram abertos novos canais
para que Mianmar, Vietn e Laos conseguissem se inserir na articulao asitica
de produo e investimentos.
O Vietn, por exemplo, absorveu etapas de setores industriais de menor
valor agregado intensivo em mo de obra, notadamente da China, em es-
pecial por meio da ilha de Taiwan e de Hong Kong.
41
A Grande China (Chi-
na, Taiwan e Hong Kong) representou cerca de um quarto o estoque de IDE
recebido pelo Vietn entre 1998 e 2007 (MARTINS; LEO, 2011). Quanto
ao Laos, embora grande parte dos investimentos recebidos da China estivesse
concentrada em produtos primrios e commodities, a aproximao das duas na-
es tambm estimulou a migrao de etapas de produo de algumas indstrias
chinesas para o Norte do Laos como as de motocicletas e as de produo de
baterias (ANDERSSON; ENGVALL; KOKKO, 2009).
Esse processo tambm tem sido apoiado na criao da rea de livre comr-
cio entre China e a Asean, nomeada de rea de Livre Comrcio China-Asean
(China-Asean Free Trade Area CAFTA). A CAFTA deve resultar em um rpido
crescimento dos fuxos de comrcio e, simultaneamente, permitir maior articu-
lao das cadeias produtivas das duas regies, fazendo que os efeitos da ascenso
chinesa, possivelmente, se mostrem ainda maiores. Partindo das anlises de Wong
(2010) e Chin e Stubbs (2010) trs foram os aspectos identifcados nesse sentido:
i) fortalecimento das exportaes de matrias-primas e insumos da Asean para a
China; ii) atrao das tecnologias de bens e servios desenvolvidas na China; e iii)
possibilidade dos pases menos industrializados da Asean se tornarem mercados
prioritrios para os investimentos das transnacionais chinesas.
42
41. Nessa direo, vale destacar o deslocamento da fbrica de lmpadas chinesa Ben Fan para o Vietn. Em funo dos
baixos nveis salariais, a Ben Fan tem como meta a transferncia de 85% de sua produo para o pas. Espera-se alcanar o
nmero de 8 mil funcionrios entre 2010 e 2011, contra 300 em 2009 e apenas 5 mil na China, contra 25 mil em 2008.
42. A equipe que liderou a articulao comercial intraregional detalhou o pacote construdo a m de fortalecer as
relaes China-Asean, incluindo um projeto piloto para identicar setores especcos e prioritrios. A nfase tem sido
dada na cooperao econmica e na aproximao comercial entre China e Asean, por conta disso tem se tornado
necessria, nas duas regies, a eliminao de restries para o comrcio de bens, tecnologia, capital e informao.
() Dessa perspectiva, a China tem implementado uma estratgia going abroad, na qual as empresas chinesas foram
encorajadas a investirem no exterior. Nesse movimento, a Asean ganhou notoriedade, caracterizando-se numa regio
prioritria para atuao das empresas chinesas. (CHIN; STUBBS, 2010, p. 10, traduo livre).
140 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
Pelo lado chins, a aproximao com a SAARC e com a Asean-3 ofereceu
a possibilidade de crescimento das suas exportaes processadas. Com efeito, a
abertura da China para realizar investimentos e comprar bens primrios da Ase-
an-3 e da SAARC ocorreu em contrapartida da venda de suas manufaturas baratas
produzidas das plataformas exportadoras.
4 OS IMPACTOS DA CHINA NA RECENTE ARTICULAO PRODUTIVA
ASITICA: ANLISE DO COMRCIO EXTERIOR E DOS INVESTIMENTOS
DIRETOS ESTRANGEIROS
A partir da discusso realizada na seo anterior, busca-se nesta seo verifcar
quais foram as mudanas decorrentes da emergncia chinesa nos fuxos de comr-
cio e investimento da regio asitica. De modo geral, a China impactou basica-
mente de duas formas a articulao industrial e comercial da sia.
Em primeiro lugar, fortaleceu e ampliou a integrao produtiva regional
j consolidada, principalmente das indstrias de alta tecnologia. Isto trouxe
a reboque trs movimentos simultneos, a saber: i) favoreceu as exportaes
das empresas dos pases mais industrializados da regio Japo e NIE-1 que
produziam e vendiam produtos sofsticados a partir de suas fliais instaladas no
mercado chins; ii) atraiu importaes de insumos industriais e mquinas des-
ses mesmos pases incluindo tambm os NIE-2 para reexportao de bens
fnais; e iii) tornou a China um grande competidor, bem como abriu espao
para atuao de outros pases no esquema dos gansos voadores em setores
industriais menos elaborados. Em segundo lugar, a partir da abertura do mer-
cado de consumo chins, os pases exportadores de produtos bsicos (alimentos,
insumos industriais etc.) tambm puderam aumentar suas exportaes e receber
investimentos nesses setores. Estes dois impactos redefniram as relaes econ-
micas bilaterais entre a China e as demais regies da sia.
No que diz respeito mais especifcamente ao comrcio exterior, foram for-
mados e/ou reforados quatro padres. O primeiro, que envolve a China e a sia
desenvolvida (Japo, Coreia do Sul, Taiwan e Cingapura), mostrou-se altamente
intensivo em tecnologia e estruturalmente defcitrio para a China, principalmen-
te por causa da expanso de importaes de bens de alto valor agregado da sia
desenvolvida. O segundo, que trata da relao entre a China e os NIE-2, tambm
apresentou saldo comercial negativo para a China, mas com uma pauta comercial
mais diversifcada que incluiu tambm commodities energticas e alimentos.
43
Os dois outros padres (China-SAARC e China-Asean-3) foram caracterizados
43. Nesses dois primeiros padres, a elevada competitividade da China nos setores de alta tecnologia permitiu a
ampliao de suas exportaes para as trs regies (Japo, NIE-1 e NIE-2), bem como deslocou algumas indstrias,
notadamente da ltima regio.
141 A Articulao Produtiva Asitica e os Efeitos da Emergncia Chinesa
por supervits da China em razo das vendas chinesas de produtos manufaturados
mais caros mdia e alta intensidade tecnolgica e da importao de itens b-
sicos e industrializados de baixo valor agregado. Contudo, a partir do ingresso da
Asean-3 nos gansos voadores, o quarto padro tem sofrido grandes transforma-
es nos anos mais recentes, devido ao forte crescimento das exportaes do Laos,
do Vietn e de Mianmar de produtos industriais de maior contedo tecnolgico.
Quanto aos investimentos diretos, observaram-se dois grandes movimen-
tos. Um primeiro, no qual a transferncia de estrutura produtiva dos pases mais
desenvolvidos da sia (Japo e NIE-1) para a China se materializou no aumento
signifcativo dos fuxos de IDE para esse pas. E, um segundo, em que as corpo-
raes chinesas ampliaram seus investimentos nas demais regies do continente
(NIE-2, SAARC e Asean-3) com o intuito de garantir recursos fundamentais, seja
para o mercado consumidor ou para superar seus gargalos de infraestrutura, seja
para transferir parte de sua estrutura produtiva.
As duas subsees a seguir abordam essas questes. A primeira discute as
principais caractersticas e a evoluo dos quatro padres de comrcio exterior
existente entre a China e algumas regies da sia. A segunda aborda as transfor-
maes da emergncia chinesa sobre os fuxos de investimentos diretos asiticos.
4.1 Os padres asiticos de comrcio exterior no contexto de emergncia chinesa
4.1.1 O padro China-sia desenvolvida
Impulsionada principalmente pela formao das plataformas exportadoras chi-
nesas, a corrente de comrcio entre a China e a sia desenvolvida passou uma
acelerada expanso. Como mostra o grfco 1, essa evoluo, por sua vez, foi
particularmente desfavorvel quantitativamente China. Desde os anos 2000 os
fuxos comerciais entre a China e a sia desenvolvida cresceram exponencialmen-
te. Enquanto em 2000 a corrente de comrcio entre os dois pases era de US$ 159
bilhes, em 2008 era de US$ 634,5 bilhes. Este crescimento tambm promoveu
o aumento do supervit da sia desenvolvida com a China. O saldo comercial
que j era desfavorvel China no comeo da dcada de 2000 o dfcit em 2000
foi de 31,6 bilhes se tornou ainda mais negativo no perodo subsequente. En-
tre 2001 e 2009, por exemplo, o dfcit comercial saltou de US$ 30,4 bilhes para
US$ 134,9 bilhes. Nesse perodo, o dfcit acumulado foi de US$ 931 bilhes,
sendo que a mdia anual foi de US$ 121,6 bilhes (grfco 1).
142 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
GRFICO 1
Evoluo da corrente de comrcio chinesa com a sia desenvolvida 1995-2009
(Em US$ milhes correntes)
-210.000
-140.000
-70.000
0
70.000
140.000
210.000
280.000
350.000
420.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Saldo Exportaes Importaes
Fonte: Handbook of Statistics/Unctad.
Elaborao do autor.
Esse diferencial, alm do prprio crescimento das exportaes proces-
sadas chinesas que tem relao direta com a expanso das importaes de
insumos industriais, bem como de mquinas e equipamentos oriundas desses
pases , foi resultado tambm da pauta exportadora chinesa mais diversi-
fcada. Por isso, apesar da maior participao dos produtos intensivos em
tecnologia, os segmentos intensivos em trabalho e recursos naturais ainda
mostraram grande importncia.
Segundo a tabela 1, embora os bens intensivos em trabalho e recursos natu-
rais tivessem visto sua participao nas exportaes chinesas para a sia desenvol-
vida cair ininterruptamente, este setor ainda representou mais de 20% do total
exportado pela China (21,4% entre 2007 e 2009). Esta queda ocorreu em con-
trapartida do aumento na participao das exportaes dos setores de alta e mdia
intensidade tecnolgica que se elevou de, respectivamente, 38,8% e 28,2% entre
1998-2000 para 35,3% e 46,1% entre 2007-2009.
44
44. Esse fenmeno foi resultado tanto do aumento do comrcio intrarma, no qual empresas da sia desenvolvida
passaram a reexportar, da China, produtos nais para seus pases de origem, como o crescimento das exportaes de
empresas chinesas especializadas nesses segmentos e/ou joint ventures de outros mercados, onde a competitivi-
dade mais elevada do que no Japo e nos NIE-1.
143 A Articulao Produtiva Asitica e os Efeitos da Emergncia Chinesa
TABELA 1
Pauta de exportaes chinesas para a sia desenvolvida 1995-2009
(Em %, acumulada a cada trinio)
1
1995-1997 1998-2000 2001-2003 2004-2006 2007-2009
Commodities e petrleo
2
24,8 20,9 18,4 15,4 12,0
Intensivos em trabalho e recursos naturais 37,5 36,0 32,6 24,2 21,4
Baixa intensidade tecnolgica 7,9 6,1 4,9 8,4 10,1
Mdia intensidade tecnolgica 14,6 17,8 18,5 20,8 24,7
Alta intensidade tecnolgica 13,2 17,7 24,4 30,3 30,7
No classicados 1,9 1,5 1,1 1,0 1,0
Fonte: Handbook of Statistics/Unctad.
Elaborao do autor.
Notas:
1
Classicao do World Development Report/Unctad.
2
Esta categoria inclui tambm outros insumos energticos. Todavia, denomina-se ao longo deste texto apenas como
commodities e petrleo.
No que tange s importaes chinesas provenientes da sia desenvolvida, estas
se concentraram quase que exclusivamente nos segmentos de mdia e alta intensi-
dade tecnolgica, cujo valor agregado signifcativamente superior aos produtos
intensivos em trabalho e recursos naturais. Como aponta a tabela 2, ao longo da
ltima dcada, estes setores foram responsveis por 75% a 85% das importaes.
TABELA 2
Pauta de exportaes chinesas para a sia desenvolvida 1995-2009
(Em %, acumulada a cada trinio)
1995-1997 1998-2000 2001-2003 2004-2006 2007-2009
Commodities e petrleo 7,2 7,4 5,8 6,6 8,4
Intensivos em trabalho e recursos naturais 19,9 16,0 10,0 5,6 4,0
Baixa intensidade tecnolgica 8,6 8,7 8,1 6,9 5,8
Mdia intensidade tecnolgica 43,3 38,8 37,8 35,2 35,3
Alta intensidade tecnolgica 20,1 28,2 37,9 45,4 46,1
No classicados 0,9 0,8 0,5 0,4 0,4
Fonte: Handbook of Statistics/Unctad.
Elaborao do autor.
Entre os produtos mais comprados pela China, destacaram-se: mquinas e
aparelhos eltricos; partes e componentes de veculos; instrumentos e aparelhos
pticos; e vlvulas e tubos catdicos. Estas duas ltimas categorias de produto,
por exemplo, alcanaram a participao de 64,3% das importaes de alta inten-
sidade tecnolgica no perodo 2004-2006 e de 67,8% no perodo 2007-2009.
144 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
4.1.2 O padro China-NIE-2
Analogamente ao ocorrido na relao da China com a sia desenvolvida, a corrente
de comrcio China-NIE-2 tambm cresceu a taxas elevadas nos anos 2000 subiu
de US$ 11,5 bilhes em 1995 para US$ 139,1 bilhes em 2009 , sendo desfavor-
vel quantitativamente primeira regio. Entre 1995 e 2000, a China j apresentava
dfcits comerciais com os NIE-2, que cresceram rapidamente nos anos subsequen-
tes chegando ao patamar de US$ 26,6 bilhes em 2009 (grfco 2).
A maior parte desse dfcit foi explicada pelas importaes chinesas de commodities
e bens de alto valor agregado mquinas e equipamentos, instrumentos eletrnicos e
outros para processamento de exportaes de bens fnais. Todavia, a crescente compe-
titividade dos produtos chineses mais sofsticados e a rpida expanso de seu mercado
consumidor tambm afetaram de modo relevante o padro de comrcio China-NIE-2.
GRFICO 2
Evoluo da corrente de comrcio chinesa com os NIE-2 1995-2009
(Em US$ milhes correntes)
-40.000
-20.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Saldo Exportaes Importaes
Fonte: Handbook of Statistics/Unctad.
Elaborao do autor.
Desse modo, o comrcio entre essas duas regies seguiu duas trajetrias
distintas. Na primeira, observou-se um padro mais complementar de comr-
cio, pelo qual os NIE-2 se aproveitaram da crescente necessidade de importao
das plataformas exportadoras chinesas. Na segunda, notou-se: i) um padro mais
competitivo em que as empresas chinesas mais sofsticadas passaram a ocupar os
mercados internos dos NIE-2; e ii) um padro mais inclusivo que abriu espaos
para corporaes dos NIE-2 explorarem o mercado consumidor chins por inter-
mdio das exportaes de commodities e petrleo.
145 A Articulao Produtiva Asitica e os Efeitos da Emergncia Chinesa
Partindo dessas duas trajetrias, as exportaes chinesas para os NIE-2 foram
consideravelmente diversifcadas. Ao longo dos anos 2000, entre 40% e 45% das
vendas chinesas estiveram concentradas em commodities e petrleo; bens intensivos
em trabalho e recursos naturais; e produtos de baixa intensidade tecnolgica, o restan-
te em torno de 55% e 60% foi dirigida para os setores de mdia e alta intensidade
tecnolgica. No primeiro conjunto de setores, destacaram-se as exportaes dos bens
intensivos em trabalho e recursos naturais mveis, calados e fos de tecido que,
no trinio 2007-2009, alcanaram uma participao de 16,6%. No segundo, o setor
mais importante foi de alta intensidade tecnolgica vlvulas e tubos catdicos, alm
de equipamentos e componentes de telecomunicaes , cujo percentual no total
exportado pela China, nos ltimos trs anos, foi de 32% (tabela 3).
TABELA 3
Pauta de exportaes chinesas para os NIE-2 1995-2009
(Em %, acumulada a cada trinio)
1995-1997 1998-2000 2001-2003 2004-2006 2007-2009
Commodities e petrleo 17,5 21,0 16,2 12,9 10,9
Intensivos em trabalho e recursos naturais 21,0 16,4 15,5 14,1 16,6
Baixa intensidade tecnolgica 16,8 7,9 6,0 11,0 10,1
Mdia intensidade tecnolgica 29,5 26,6 26,0 25,4 28,9
Alta intensidade tecnolgica 13,7 26,6 35,2 35,6 32,0
No classicados 1,5 1,5 1,2 1,1 1,5
Fonte: Handbook of Statistics/Unctad.
Elaborao do autor.
J as importaes chinesas estiveram, no perodo mais recente, concentradas
nos produtos mais intensivos em tecnologia e, em menor proporo, nas commodities
e petrleo, invertendo o movimento observado na segunda metade dos anos 1990.
Desde 2001, esses dois setores atingiram uma participao conjunta de, pelo menos,
60%. Como aponta a tabela 4, nos dois ltimos trinios (2004-2006 e 2007-2009),
os produtos de alta intensidade tecnolgica fcaram responsveis, respectivamente,
por 59,6% e 56,2% e as commodities e petrleo tiveram, no primeiro perodo, parti-
cipao de 17,8% e, no segundo, de 23,1%.
TABELA 4
Pauta de importaes chinesas oriunda dos NIE-2 1995-2009
(Em %, acumulada a cada trinio)
1995-1997 1998-2000 2001-2003 2004-2006 2007-2009
Commodities e petrleo 44,7 30,9 22,7 17,8 23,1
Intensivos em trabalho e recursos
naturais
28,1 18,6 9,5 6,9 6,3
Baixa intensidade tecnolgica 1,2 1,6 1,7 1,0 0,4
(Continua)
146 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
1995-1997 1998-2000 2001-2003 2004-2006 2007-2009
Mdia intensidade tecnolgica 15,2 18,1 16,6 14,7 14,0
Alta intensidade tecnolgica 10,5 30,7 49,4 59,6 56,2
No classicados 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1
Fonte: Handbook of Statistics/Unctad.
Elaborao do autor.
Essa segunda trajetria do padro comercial China-NIE-2 marcou tambm
as relaes China-SAARC e China-Asean-3. A expanso da demanda interna da
China, aliada escassez de recursos naturais, abriu uma grande oportunidade para
essas localidades produtoras de bens primrios e commodities aumentarem suas
exportaes em direo ao gigante asitico.
4.1.3 O padro China-SAARC
Em funo da rpida abertura comercial sofrida pelos pases da SAARC, as suas
exportaes de alimentos, txteis e outros para a China, no foram capazes de
sustentar a entrada das manufaturas chinesas intensivas em tecnologia, particu-
larmente na segunda metade dos anos 2000.
Com efeito, em que pese o fato de ambas as regies terem aumentado con-
sideravelmente suas exportaes e importaes, o comrcio bilateral foi extrema-
mente benfco China. Apesar do forte aumento das importaes chinesas a
partir de 2002, o grfco 3 mostra que, durante todos os anos, mas principalmen-
te na segunda metade da dcada de 2000, as exportaes se mantiveram acima das
importaes. Entre 2005 e 2009, por exemplo, o supervit chins com a SAARC
pulou de US$ 2,9 bilhes para US$ 26,7 bilhes graas ao aumento das expor-
taes que, nesse nterim, cresceu de US$ 11,2 bilhes para US$ 41,9 bilhes.
(Continuao)
147 A Articulao Produtiva Asitica e os Efeitos da Emergncia Chinesa
GRFICO 3
Evoluo da corrente de comrcio chinesa com a SAARC 1995-2009
(Em US$ milhes correntes)
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Saldo Exportaes Importaes
Fonte: Handbook of Statistics/Unctad.
Elaborao do autor.
Conforme apontam as tabelas 5 e 6, o resultado favorvel China foi fruto
do alto valor agregado de suas exportaes de manufaturas frente s importaes de
produtos bsicos. A tabela 7 confrma como a grande maioria das exportaes chine-
sas para a SAARC foi de produtos de mdia e alta intensidade tecnolgica. Nos anos
2000, estes dois setores alcanaram uma participao sempre superior 50%, sendo
que no ltimo trinio (2007-2009) chegou a um percentual de 67%. Os produtos
mais exportados desta categoria foram, em primeiro lugar, mquinas e componentes
de telecomunicaes e, em segundo lugar, caldeiras geradoras de vapor.
TABELA 5
Pauta de exportaes chinesas para a SAARC 1995-2009
(Em %, acumulada a cada trinio)
1995-1997 1998-2000 2001-2003 2004-2006 2007-2009
Commodities e petrleo 15,3 17,1 12,9 8,3 5,0
Intensivos em trabalho e recursos naturais 24,7 27,7 27,3 25,2 18,4
Baixa intensidade tecnolgica 6,9 5,9 5,2 7,8 9,4
Mdia intensidade tecnolgica 33,4 27,4 26,8 29,1 36,5
Alta intensidade tecnolgica 18,7 21,0 26,7 28,6 29,6
No classicados 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Fonte: Handbook of Statistics/Unctad.
Elaborao do autor.
148 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
Nas importaes chinesas provenientes da SAARC o principal destaque foi
para commodities e petrleo. Enquanto, entre 1995 e 2003, a participao deste
segmento no ultrapassou a barreira dos 40%, nos dois ltimos trinios esteve
acima dos 65% (tabela 6).
TABELA 6
Pauta de importaes chinesas oriunda da SAARC 1995-2009
(Em %, acumulada a cada trinio)
1995-1997 1998-2000 2001-2003 2004-2006 2007-2009
Commodities e petrleo 49,0 42,7 36,5 65,2 75,1
Intensivos em trabalho e recursos naturais 40,0 43,4 27,3 13,0 10,8
Baixa intensidade tecnolgica 3,9 1,1 14,2 6,2 2,2
Mdia intensidade tecnolgica 4,1 6,6 12,1 9,2 6,2
Alta intensidade tecnolgica 2,7 5,3 9,0 5,7 5,0
No classicados 0,4 0,9 1,0 0,6 0,7
Fonte: Handbook of Statistics/Unctad.
Elaborao do autor.
Esse desempenho foi fortemente infuenciado pelas exportaes indianas de
minrio de ferro representou quase 73% das importaes chinesas de commodities
e petrleo dessa regio em 2009.
45
Com efeito, a trajetria das importaes chinesas
originadas da SAARC respondeu, em grande medida, evoluo das relaes co-
merciais sino-indianas.
46
4.1.4 O padro China-Asean-3
A exemplo do padro de comrcio anterior, o comrcio exterior China e Asean-3
tambm se sustentou, de um lado, pela penetrao externa dos produtos chineses
mais intensivos em tecnologia e, de outro, pela abertura do mercado consumidor
chins para produtos bsicos. No entanto, nos anos mais recentes, observou-se
maior diversifcao das importaes chinesas em direo a produtos mais indus-
trializados. Isto foi fruto de um processo de integrao industrial entre ambas as
regies. A crescente migrao das corporaes chinesas em direo realizao de
tarefas mais fnas da cadeia tecnolgica gerao de inovaes, desenvolvimento
45. Em 2009, a venda de minrio de ferro da ndia para a China representou mais da metade do total importado pelo
ltimo pas do mercado indiano. Para essa e outras informaes relativas composio do comrcio China-ndia, ver
o captulo 4 deste livro.
46. A pauta de importaes da China oriunda da SAARC, excluindo-se a ndia, foi bastante distinta mesmo que
cristalizada em setores pouco elaborados. Ao invs de concentradas em commodities e petrleo, as compras chinesas
que tiveram maior peso foram as de bens intensivos em trabalho e recursos naturais. Desde 1995, pelo menos 65%
das importaes da China se originaram desta categoria de produtos. Ainda que sua participao esteja se reduzindo,
o percentual do segmento intensivo em trabalho e recursos naturais se manteve bem frente do segundo colocado,
commodities e petrleo 68% versus 27% (ver tabela 1A, do anexo). Esse resultado foi explicado notadamente pela
elevada participao de artigos txteis tais como os de tecidos, tecidos de algodo e couro. Estes trs produtos, em
conjunto, representaram 94% das exportaes da SAARC excluindo a ndia para a China.
149 A Articulao Produtiva Asitica e os Efeitos da Emergncia Chinesa
de peas de alta complexidade tcnica, entre outros liberou tanto as ativida-
des mais simples dessas cadeias, como aquelas intensivas em mo de obra para as
frmas do Vietn, do Laos e de Mianmar. Estas atividades permitiram Asean-3
elevar suas exportaes de produtos industrializados para o mercado chins.
A despeito dessas mudanas na pauta de exportao da Asean-3 para a Chi-
na, a corrente de comrcio entre as duas regies pde ser caracterizada: i) por uma
acelerada expanso dos fuxos de comrcio depois de 2004; e ii) pela crescente
formao de supervits comerciais em favor da China. Ao contrrio do perodo
1995-2004, as exportaes e importaes entre as duas regies comearam a se
expandir fortemente na segunda metade dos anos 2000. O crescimento da cor-
rente de comrcio entre as duas regies foi de 209%, no perodo 2004-2009, por
sua vez, ocorreu simultaneamente formao de supervit em favor da China. Se,
em 2004, o supervit chins com a Asean-3 se situou em US$ 2,6 bilhes, em
2009 subiu para US$ 13,2 bilhes (grfco 4).
Os setores responsveis pelo boom exportador chins para a Asean-3 foram
os intensivos em trabalho e recursos naturais e os de mdia intensidade tecno-
lgica, ainda que os segmentos de baixa e alta intensidade tivessem conseguido
melhorar suas posies ao longo do tempo.
GRFICO 4
Evoluo da corrente de comrcio chinesa com a Asean-3 1995-2009
(Em US$ milhes correntes)
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Saldo Exportaes Importaes
Fonte: Handbook of Statistics/Unctad.
Elaborao do autor.
Como mostra a tabela 7, as exportaes chinesas para a Asean-3 sempre
foram lideradas pelas de mdia intensidade tecnolgica. J os bens intensivos
150 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
em trabalho e recursos naturais tm visto seu percentual exportado cair conti-
nuamente, em contrapartida da ascenso dos produtos de baixa e alta intensida-
de tecnolgica. Como resultado desse cenrio, no perodo 2007-2009, o setor
de mdia intensidade liderou as exportaes chinesas com uma participao de
34,7%, seguido pelos bens intensivos em trabalho e recursos naturais (21,1%) e
pelo segmento de baixa intensidade tecnolgica (16,2%).
TABELA 7
Pauta de exportaes chinesas para a Asean-3 1995-2009
(Em %, acumulada a cada trinio)
1995-1997 1998-2000 2001-2003 2004-2006 2007-2009
Commodities e petrleo 12,7 17,0 23,7 18,6 12,8
Intensivos em trabalho e recursos naturais 32,4 23,4 19,6 21,2 21,1
Baixa intensidade tecnolgica 9,4 10,3 8,0 18,1 16,4
Mdia intensidade tecnolgica 36,9 40,6 39,8 30,6 34,7
Alta intensidade tecnolgica 8,1 8,1 8,3 10,9 14,2
No classicados 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8
Fonte: Handbook of Statistics/Unctad.
Elaborao do autor.
Quanto s importaes chinesas oriundas da Asean-3, embora sejam predo-
minantes os setores menos elaborados, tem sido notvel o crescimento dos setores
mais intensivos em tecnologia, apesar das participaes relativamente pequenas
do total importado pela China. Desse modo, as compras chinesas da Asean-3 fo-
ram impulsionadas, em maior escala, por petrleo e insumos energticos carvo,
principalmente e, em menor escala, por produtos industriais mais sofsticados,
tais como estruturas e partes eltricas.
De acordo com a tabela 8, as importaes de commodities e petrleo perde-
ram cerca de 20 pontos percentuais de participao entre o perodo 1995-1997
e 2007-2009 saram de 84% para 64% ainda que continuassem sendo os
principais responsveis desses fuxos comerciais. Esta queda foi compensada pelo
acelerado aumento das importaes chinesas nos segmentos de mdia e alta tecno-
logia. Enquanto, entre os anos 1995 e 1997, a contribuio destes dois setores para
as importaes chinesas era de apenas 1,7%, no perodo 2007-2009 esse percen-
tual subiu para 18,9%. Nesse sentido, vale destacar a exploso das importaes de
equipamentos e componentes de telecomunicao, que saiu de US$ 15,2 milhes
em 2006 para US$ 206,4 milhes em 2009, e de estruturas e partes eltricas, cujo
salto foi de US$ 45 milhes em 2006 para US$ 128,6 milhes em 2009.
151 A Articulao Produtiva Asitica e os Efeitos da Emergncia Chinesa
TABELA 8
Pauta de importaes chinesas oriundas da Asean-3 1995-2009
(Em %, acumulada a cada trinio)
1995-1997 1998-2000 2001-2003 2004-2006 2007-2009
Commodities e petrleo 83,9 84,7 80,8 76,2 64,5
Intensivos em trabalho e recursos naturais 13,8 9,7 9,3 9,2 15,9
Baixa intensidade tecnolgica 0,3 0,2 0,3 0,3 0,6
Mdia intensidade tecnolgica 0,9 2,3 7,2 11,4 9,5
Alta intensidade tecnolgica 0,8 3,0 2,3 2,7 9,4
No classicados 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2
Fonte: Handbook of Statistics/Unctad.
Elaborao do autor.
Como observado, as mudanas destacadas anteriormente ocorreram com a
expanso dos investimentos chineses, bem como dos fuxos de IDE asiticos que
ingressaram nesses pases. Dessa perspectiva, a reorganizao da estrutura produtiva
asitica decorrente da emergncia chinesa tambm impactou na direo e nos mon-
tantes dos IDE recebidos e realizados pela China, como se discute na subseo 4.2.
4.2 A emergncia chinesa e os uxos de IDE asiticos
Em termos gerais, as alteraes dos fuxos de IDE no contexto de crescimento chins
se deram de duas formas. No caso da relao com os pases mais desenvolvidos, o
crescente deslocamento de atividades para as plataformas exportadoras chinesas, que
foi impulsionado pelo aumento do comrcio intrafrma, resultou em uma clere am-
pliao dos fuxos de IDE das empresas japonesas e dos NIE-1 para a China com o
intuito de instalar suas fliais e/ou joint ventures.
47
No caso da relao com os pases me-
nos desenvolvidos, a China tem elevado seus nveis de investimentos na SAARC e na
Asean-3 aqui os NIE-2 podem ser includos tanto para assegurar o acesso a recursos
naturais estratgicos petrleo, carvo, minrio de ferro, ao e outros e alimentos,
como para transferir etapas de produo de algumas de suas indstrias mais dinmicas.
4.2.1 Os uxos de IDE recebidos pela China
Sobre o primeiro ponto, vale destacar inicialmente que, desde 1995, pelo menos
45% dos fuxos de IDE recebidos pela China vieram do Japo e dos NIE-2. Nos
ltimos trs anos (2008, 2009 e 2010), por exemplo, a participao agregada
dessas duas regies foi, respectivamente, de 62%, 71% e 61%.
47. Diferentemente do Japo e dos NIE-1, os NIE-2 no deslocaram de modo signicativo sua estrutura de produo
para a China. Embora a regio tivesse se aproveitado das plataformas exportadoras mediante a venda de mquinas
e equipamentos e insumos industriais utilizados na montagem e na confeco nal de produtos , isso no foi
acompanhado pelo estabelecimento de lias e/ou joint ventures de empresa dessa regio na China. Logo, a despeito
do esforo exportador em bens que so utilizados na produo das plataformas exportadoras, os uxos de IDE dos
NIE-2 em direo China foram pouco expressivos. Como observado no decorrer desta subseo, os que predomi-
naram foram os investimentos chineses na regio, principalmente em recursos energticos.
152 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
De acordo com o grfco 5, de 1995 a 2010 os fuxos de IDE recebidos pela
China proveniente dos NIE-2 e do Japo se ampliaram em 157,5%, saltando
de US$ 29,2 bilhes em 1995 para US$ 75,2 bilhes em 2010. A maior parte
deste resultado se deveu aos investimentos de Hong Kong. Se at 2005 os fuxos
de IDE de Hong Kong se equiparavam soma dos IDE japoneses e dos outros
NIE-2, a partir de 2006 a primeira regio ampliou a taxas muito mais elevadas
seus investimentos no mercado chins. Em 2005, os IDE de Hong Kong foram
de US$ 17,9 bilhes frente US$ 16,1 do Japo e dos outros NIE-2. J em 2010,
Hong Kong alcanou um volume de investimentos da ordem de US$ 60,1 bi-
lhes, enquanto os outros pases investiram apenas US$ 14,7 bilhes.
GRFICO 5
Fluxos de IDE recebidos pela China do Japo e dos NIE-1 1995-2010
(Em US$ milhes correntes)
0
8.000
16.000
24.000
32.000
40.000
48.000
56.000
64.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Hong Kong Demais NIE-2 mais Japo
Fonte: Ministry of Commerce of China. Disponvel em: <www.ceicdata.com>.
Elaborao do autor.
Essa diferena tambm se constatou em termos percentuais, como aponta a
tabela 9. Ao longo de todo perodo, pelo menos metade dos investimentos rece-
bidos pela China dessa regio teve como origem Hong Kong.
TABELA 9
Participao por pas nos uxos de IDE recebidos pela China 1995-2010
(Em %)
Hong Kong Cingapura Coreia do Sul Taiwan Japo
1995 68,6 6,3 3,6 10,8 10,6
1996 65,8 7,1 4,3 11,1 11,7
1997 62,5 7,9 6,5 10,0 13,1
(Continua)
153 A Articulao Produtiva Asitica e os Efeitos da Emergncia Chinesa
Hong Kong Cingapura Coreia do Sul Taiwan Japo
1998 61,6 11,3 6,0 9,7 11,3
1999 63,3 10,2 4,9 10,1 11,5
2000 63,6 8,9 6,1 9,4 12,0
2001 59,0 7,6 7,6 10,5 15,3
2002 57,5 7,5 8,8 12,8 13,5
2003 54,2 6,3 13,7 10,3 15,5
2004 53,0 5,6 17,4 8,7 15,2
2005 52,8 6,5 15,2 6,3 19,2
2006 61,1 6,8 11,8 6,4 13,9
2007 69,4 8,0 9,2 4,4 9,0
2008 75,8 8,2 5,8 3,5 6,7
2009 78,9 6,2 4,6 3,2 7,0
2010 80,5 7,2 3,6 3,3 5,4
Fonte: Ministry of Commerce of China. Disponvel em: <www.ceicdata.com>.
Elaborao do autor.
Esse crescimento dos investimentos oriundos de Hong Kong na China no
refetiu apenas a integrao produtiva das duas regies. Isto porque, em razo de
Hong Kong ser um paraso fscal, parte importante desses recursos saa da prpria
China, realizando viagens de ida e volta (round-tripping). A ausncia de restries
para entrada de capital estrangeiro em Hong Kong somada criao das zonas
especiais chinesas que forneciam uma srie de subsdios fscais e fnanceiros para
entrada do IDE explicaram esse movimento. O tratamento diferenciado dado
ao capital estrangeiro instalado nestas zonas incentivou que empresas chinesas
migrassem para Hong Kong e, posteriormente, retornassem ao seu pas de origem
com o status de corporao estrangeira. Segundo Macadar (2008, p. 31), no caso
da China, parte das viagens de ida e volta realizada via Hong Kong. Estima-se
que entre 25% e 50% dos ingressos de IDE naquele pas provm das prprias
empresas chinesas, que visam aproveitar os incentivos governamentais concedidos
aos investidores estrangeiros.
Desconsiderando os investimentos oriundos de Hong Kong, as demais regies
tambm expandiram seus fuxos de IDE na China, apesar da reduo observada no
perodo recente. Ou seja, embora parte importante dos investimentos realizados na
China esteja relacionado ao movimento de round-tripping, o crescimento dos IDE ja-
poneses e dos outros NIE-2
48
tambm confrma a importncia da integrao produtiva
chinesa com esses outros pases. Entre os quatro pases, somente Taiwan viu seu volume
de investimentos se reduzir desde 1995. Nos outros trs pases, os fuxos de IDE na
48. Sobre os demais pases, vale ressaltar que nos investimentos de Cingapura tambm se encontram atividades de
round-tripping, mas em uma escala muito inferior quela observada em Hong Kong.
(Continuao)
154 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
China se expandiram consideravelmente. No caso da Coreia do Sul, por exemplo,
embora os fuxos de IDE tivessem atingido o valor de US$ 6,2 bilhes em 2004, se
comparados a 1995, quando os investimentos coreanos totalizaram US$ 1 bilho, estes
fuxos mais que dobraram em 2010, chegando cifra de US$ 2,6 bilhes (grfco 6).
GRFICO 6
Fluxos de IDE recebidos pela China do Japo e dos NIE-2 (excluindo Hong Kong) 1995-2010
(Em US$ milhes correntes)
0
800
1600
2400
3200
4000
4800
5600
6400
7200
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Cingapura Coreia do Sul Taiwan Japo
Fonte: Ministry of Commerce of China. Disponvel em: <www.ceicdata.com>.
Elaborao do autor.
4.2.2 Os uxos de IDE realizados pela China
O resultado dos investimentos chineses nos pases menos desenvolvidos da
sia apontou para maior insero das empresas da China nos pases vizi-
nhos.
49
Entre 2003 e 2009, a internacionalizao das empresas chinesas para
a SAARC, os NIE-2 e a Asean-3 se intensifcou, como sugerem os dados de
estoque de IDE chins. Enquanto em 2003 a soma do estoque de IDE chins
nessas regies no superava US$ 408,2 milhes, em 2010 j havia ultrapas-
sado o valor de US$ 6 bilhes. Os principais destaques desse processo foram
a SAARC e a Asean-3. Nessas duas localidades o estoque de IDE chins, que
era inferior a US$ 50 milhes em 2003, j contabilizava US$ 1,9 bilho no
caso da SAARC e US$ 2,1 bilhes em relao Asean-3 em 2010 (grfco 7).
49. Como ressaltado em um trabalho anterior (ACIOLY; LEO, 2010) a maior parte dos investimentos chineses se efetivou
na Asean. Na sia, boa parte dos investimentos chineses, dirigiu-se aos pases que compe a Asean, em torno de entre
20% e 30%. Nestes pases a China tem investido nos setores de commodities e recursos naturais, como borracha, leo de
palma, petrleo, gs e agrobusiness na Tailndia, Camboja, Malsia, Indonsia, Filipinas, Vietn e Cingapura (op. cit., p. 3).
155 A Articulao Produtiva Asitica e os Efeitos da Emergncia Chinesa
GRFICO 7
Estoque de IDE chins para regies selecionadas da sia 2003-2009
(Em US$ milhes correntes)
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
SAARC NIE-2 Asean-3
Fonte: Ministry of Commerce of China. Disponvel em: <www.ceicdata.com>.
Elaborao do autor.
A expanso dos investimentos chineses nessas regies ocorreu de modo re-
lativamente diversifcado. Recentemente houve aumento da participao da Ase-
an-3 e da SAARC em detrimento dos NIE-2. Se at 2005 pouco mais de 50%
do estoque de IDE chins tinham como destino os NIE-2, em 2009 esse valor
era de 31,1%. Em contrapartida, nesse perodo, a Asean-3 viu sua participao
ampliar de 25,8% para 36,5% e a SAARC de 23,1% para 32,4%. Estes resultados
se deveram, mais notadamente, forte internacionalizao das empresas chinesas
no Mianmar e no Paquisto. Em 2003 a parcela de IDE chins detida pelos dois
pases que era de 9,7% chegou ao percentual de 39,7% em 2009 (tabela 10).
TABELA 10
Destino do estoque de IDE chins na sia 2003-2009
(Em %)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Vietn 7,0 23,1 20,7 17,9 11,1 11,6 12,1
Laos 2,2 2,2 3,0 6,8 8,4 6,8 8,9
Mianmar 2,5 2,9 2,1 11,5 7,3 11,1 15,5
Asean-3 11,8 28,3 25,8 36,2 26,8 29,5 36,5
Tailndia 36,9 26,3 19,8 16,4 10,6 9,7 7,4
Filipinas 2,1 1,4 1,7 1,5 1,2 1,9 2,4
Malsia 24,7 17,8 16,9 13,9 7,7 8,0 8,0
Indonsia 13,3 17,6 12,7 15,9 19,0 12,1 13,3
(Continua)
156 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
NIE-2 77,0 63,0 51,1 47,8 38,4 31,8 31,1
Nepal 0,4 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
ndia 0,2 0,7 1,3 1,8 3,4 4,9 3,7
Sri Lanka 1,6 1,0 1,4 0,6 0,2 0,4 0,3
Paquisto 6,7 5,3 17,1 10,5 29,8 29,6 24,2
Afeganisto 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 2,6 3,0
Bangladesh 2,1 1,2 3,0 2,8 1,2 1,1 1,0
SAARC
1
11,2 8,7 23,1 16,0 34,8 38,7 32,4
Fonte: Ministry of Commerce of China. Disponvel em: <www.ceicdata.com>.
Elaborao do autor.
Nota:
1
Por falta de referncia, no esto includos dados do Buto e das Maldivas.
Segundo reportagem do International Te News, at 2011, as corporaes
chinesas atuaram em 260 grandes e pequenos projetos no Paquisto, onde estive-
ram envolvidos mais de 13 mil trabalhadores chineses.
50
Os segmentos prioritrios
destes projetos eram energia, comunicao, transporte, minerao e infraestrutura.
No caso de Mianmar, no binio 2010-2011, os principais investimentos chineses
cerca de 75% se concentraram no setor de energia, como petrleo e hidroeltrico.
5 CONSIDERAES FINAIS
Nas ltimas trs dcadas, a ascenso econmica da China no foi um fenmeno
isolado, mas ocorreu em conjunto com uma srie de transformaes na economia
da sia. Lideradas pelo Japo, as economias asiticas passaram por um processo
de progressiva articulao produtiva.
Esse processo ganhou fora somente depois da industrializao dos pases
mais desenvolvidos da sia (Japo, Coreia do Sul e Taiwan) e apoiou-se nos movi-
mentos da economia norte-americana. Em um primeiro momento, a despeito da
forte participao dos Estados Nacionais asiticos, os Estados Unidos assumiram
um papel importante para a industrializao dessa regio, seja consumindo seus
bens manufaturados, seja fornecendo suporte fnanceiro e tecnolgico. Em um
segundo momento, quando Japo, Coreia e Taiwan se tornaram grandes con-
correntes dos norte-americanos, as tenses entre as duas regies auxiliaram, de
diversas formas, o desenvolvimento industrial dos demais pases da sia. Todavia,
a exemplo dos outros pases, a interveno estatal foi crucial para que essas trans-
formaes fossem colocadas em marcha.
Em suma, as industrializaes lideradas pelos estados asiticos se articularam
entre si conectadas aos estmulos ou s presses impostas pelos Estados Unidos. Essa
articulao, todavia, no ocorreu em uma nica tacada, mas sim gradativamente e
50. Disponvel em: <http://www.thenews.com.pk/TodaysPrintDetail.aspx?ID=51652&Cat=3&dt=6/10/2011>.
(Continuao)
157 A Articulao Produtiva Asitica e os Efeitos da Emergncia Chinesa
de forma hierarquizada. Primeiramente, foram integradas as indstrias de Japo,
Taiwan e Coreia e, somente depois, as dos NIE-2 e da China.
51
Alm disso, esta
tambm respondeu s mudanas das polticas macroeconmicas da regio cam-
bial e monetria, principalmente e aos diferenciais de custos existentes.
No caso da China, o pas se favoreceu do confito econmico entre os Es-
tados Unidos e os pases mais desenvolvidos da regio (Japo e NIE-1), a partir
do momento em que os norte-americanos procuraram estabelecer mecanismos a
fm de reduzir os acmulos dos supervits comerciais desses pases. As presses
realizadas pelos norte-americanos para desvalorizar o dlar e reduzir seus dfcits
comerciais impuseram uma apreciao ao iene e estabeleceram cotas voluntrias
s exportaes nipnicas, nos Acordos de Plaza de 1985 e do Louvre de 1987. Es-
sas restries tambm atingiram Taiwan e Coreia do Sul, posteriormente, fazendo
com que as frmas desses ltimos pases, da mesma forma que as japonesas, se des-
locassem para outras naes igualmente menos desenvolvidas do continente. Esse
deslocamento intrarregional da produo dos pases mais desenvolvidos da sia,
alm da prpria expanso dos investimentos norte-americanos no continente asi-
tico, benefciou os chineses. Aproveitando-se das condies favorveis existentes
internamente cmbio desvalorizado, infraestrutura, alta capacidade de fnancia-
mento etc. a China passou a absorver investimentos e plantas produtivas sofsti-
cadas direcionadas para exportao oriundas de: Japo, Coreia do Sul e Taiwan e
nos anos 1990 dos Estados Unidos.
Esse movimento observado na China se repetiu, de forma mais ou menos si-
milar, nos NIE-2. No entanto, em meados da dcada 1990, quando a modifcao
da estrutura de fnanciamento das economias asiticas lanou um realinhamento
das moedas do continente, a China assumiu sua condio de base exportadora
da sia. Em primeiro lugar, porque a maior desvalorizao do iuane em relao
s outras moedas da regio que se valorizaram frente ao iene deu aos chineses
a oportunidade de continuar adquirindo indstrias exportadoras de pases como
Coreia do Sul e Taiwan. Em segundo lugar, porque a China conseguiu sustentar
agregar valor sua indstria exportadora sem perder sua grande competitividade,
ao contrrio dos NIE-2. E, em ltimo lugar, pois a China deslocou as exportaes
dessa regio para os Estados Unidos e a Europa.
Associados a esses aspectos, o governo chins executou uma poltica macroeco-
nmica e industrial que no apenas permaneceu orientada para fortalecer os setores
exportadores, mas tambm fortaleceu os instrumentos de atrao do IDE e de de-
senvolvimento tecnolgico. Alm disso, foi capaz de sustentar as elevadas taxas de
crescimento da economia, bem como da produo industrial.
51. Mais recentemente, outros pases, como Mianmar e Vietn, tambm tm participado dessa integrao.
158 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
Foi nesse cenrio que a China se afrmou como ator central da articulao
produtiva regional, depois da crise asitica de 1997. Em consonncia com o
reforo da articulao produtiva nos moldes gansos voadores, a China dina-
mizou outras economias asiticas, seja por meio da importao de produtos b-
sicos e manufaturados para consumo interno das suas famlias e empresas, seja
por intermdio das plataformas exportadoras. Isto afetou basicamente de duas
formas o continente asitico. De um lado, os pases mais desenvolvidos (Japo
e NIE) encontraram um pas para comprar seus produtos industrializados
tanto os bens de capital e intermedirios, como insumos para montagem de
bens fnais. Ademais, somente o Japo e os NIE-1 puderam instalar no mercado
chins, por meio do IDE, vrias de suas indstrias exportadoras intensivas em
trabalho e, principalmente, em alta tecnologia a fm de elevar sua competi-
tividade. De outro lado, os pases menos desenvolvidos (Asean-3 e SAARC) e
os NIE-2 se aproveitaram da maior demanda chinesa por alimentos e matrias-
-primas. Nessas regies, a China aumentou fortemente seus investimentos, vi-
sando garantir tambm o acesso direto desses produtos. Vale ainda destacar que
para a Asean-3, a indstria chinesa deslocou algumas atividades produtivas,
notadamente aquelas menos elaboradas dos segmentos intensivos em trabalho
e, em menor escala, de alta tecnologia. Alm de fortalecer a industrializao e
impulsionar uma diversifcao das exportaes, esse processo tem funcionado
como canal para integrar essa regio aos gansos voadores.
Como ltimo comentrio, deve-se lembrar que os efeitos da ascenso eco-
nmica chinesa para a sia dependeram das suas relaes exteriores com o resto
mundo, especialmente com os Estados Unidos. Nesse sentido, por exemplo, os
rumos das tenses sino-americanas envolvendo a poltica cambial e as reformas
do setor fnanceiro podem impactar no atual formato da integrao asitica.
Obviamente que suas relaes com outras regies fornecedoras de commodities
e matrias-primas (como o Leste Europeu e a Amrica Latina) e tambm com
aquelas que competem em segmentos de alta tecnologia (Alemanha e Frana)
tambm impactam nas decises da China para o continente asitico. Desse
modo, o papel da China na regio depende muito da conduo de suas polticas
ou demandas internas, mas tambm de seu engajamento na esfera internacional.
REFERNCIAS
ACIOLY, L. China: uma insero externa diferenciada. Economia Poltica
Internacional: Anlise Estratgica. Instituto de Economia/Unicamp, n. 5,
p. 24-31, out./dez. 2005.
ACIOLY, L.; LEO, R. P. F. A internacionalizao das empresas chinesas.
Carta da Sobeet, ano 13, n. 54, abr. 2010.
159 A Articulao Produtiva Asitica e os Efeitos da Emergncia Chinesa
AKAMATSU, K. A historical pattern of economic growth in developing countries.
Te Developing Economies, v. 1, n. 1, p. 3-25, 1962.
ANDERSSON, M.; ENGVALL, A.; KOKKO, A. In the shadow of China:
trade and growth in Lao PDR. Stockholm: Stockholm School of Economics,
Mar. 2009 (Working Paper, n. 4).
ANDRADE, C. A. A. Inovao e manufatura em setores de alta tecnologia:
modelos de organizao industrial e estgios da reestruturao produtiva. 2004.
Dissertao (Mestrado) Unicamp, Instituto de Geocincias, Campinas, 2004.
BASTOS, P. P. Z.; BIANCARELLI, A. M.; DEOS. S. S. Controle de capitais:
um bem necessrio? Economia Poltica Internacional: Anlise Estratgica, n. 1,
p. 4-14, jul./set. 2004.
BELLUZZO, L. G. M. Dinheiro e as transfguraes da riqueza. In: TAVARES, M.
C.; FIORI, J. L. (Org.). Poder e dinheiro: uma economia poltica da globalizao.
Petrpolis: Editora Vozes, 1997.
______. O dlar e os desequilbrios globais. Revista de Economia Poltica,
v. 25, n. 3 (99), p. 224-232, jul./set. 2005.
BELLUZZO, L. G. M.; CARNEIRO, R. M. Globalizao e integrao perversa. Poltica
Econmica em Foco, Instituto de Economia/Unicamp, n. 1, p. 1-11, maio/ago. 2003.
CHIN, G.; STUBBS, R. China, regional institution-building and the Chi-
na-Asean Free Trade Area. Review of International Political Economy,
n. 1, p. 1-22, 2010.
CINTRA, M. A. M. A dinmica dos mercados fnanceiros globais e as contradies
da poltica monetria americana face globalizao fnanceira. Ensaios FEE, v. 21,
n. 2, p. 183-206, 2000.
COUTINHO, L. Coria do Sul e Brasil: paralelos, sucessos e desastres. In: FIORI, J. L.
(Org.). Estados e moedas no desenvolvimento das naes. Petrpolis: Vozes, 1999.
COXHEAD, I. A new resources curse? Impacts of Chinas boom on compara-
tive advantage and resource dependence in Southeast Asia. World Development,
v. 35, n. 7, p. 1099-1119, 2007.
CUMINGS, B. Webs with no spiders, spiders with no webs: the genealogy of
the developmental state. In: WOO-CUMINGS, M. (Org.). Te developmental
state. Ithaca: Cornell University Press, 1999.
CUNHA, A. M. O Pacifco Asitico: da integrao econmica dos anos 80 e 90
crise fnanceira. In: ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA POLTICA,
3. Niteri: Sociedade Brasileira de Economia Poltica, jun. 1998.
160 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
FAGUNDES, J. Poltica industrial e defesa da concorrncia no Japo. Rio de
Janeiro: Instituto de Economia/UFRJ, 1998, p. 1-43. Mimeografado.
FERREIRA JR., H. M.; SANTOS FILHO, O. C. Coreia do Sul e Taiwan: notas
sobre a poltica industrial. Revista de Economia Poltica, So Paulo, v. 10, n. 2,
p. 116-131, abr./jun. 1990.
FIORI, J. L. (Org.). Estados e moedas no desenvolvimento das naes.
Petrpolis: Vozes, 1999.
GINZBURG, A.; SIMONAZZI, A. Patterns of industrialization and the fying
geese model: the case of electronics in East Asia. Journal of Asian Economics,
v. 15, n. 6, p. 1051-1078, 2005.
HADDAD, M. Trade integration in East Asia: the role of China and production
networks. Washington: World Bank, Mar. 2007 (World Bank Policy Research Working
Paper, n. 4160).
HIRATUKA, C. A reorganizao das empresas transnacionais e sua infuncia sobre
o comrcio internacional no perodo recente. In: ACIOLY, L.; LEO, R. P. F. (Org.).
Comrcio Internacional: aspectos tericos e as experincias indiana e chinesa.
Braslia: Ipea, 2010.
HUMPHREY, J.; SCHIMTZ, H. China: its impact on the developing
Asian economies. Brighton: Institute of Development Studies, Dec. 2007
(Working Paper, n. 295).
JOSEPH, G. Te Rise of China and Its Implications for the Division of Labor in
Asia. Economy & Markets, n. 2, p. 22-27, 2006.
KWAN, C. H. Te rise of China and Asias Flying-Geese Pattern of economic
development: an empirical analysis based on US import statistics. Aug. 2002
(Nomura Research Institute Papers, n. 52).
LARDY, N. R. Trade liberalization and its role in Chinese economic growth. In: IMF/
NCAER CONFERENCE A TALE OF TWO GIANTS: INDIAS AND CHINAS
EXPERIENCE WITH REFORM AND GROWTH. New Delhi, nov. 2003.
LAZZARI, M. R. Investimento direto estrangeiro e insero externa na China, nos anos
90. Revista Indicadores Econmicos FEE, v. 32, n. 4, (55), p. 169-204, mar. 2005.
LEO, R. P. F. O padro de acumulao e o desenvolvimento econmico da China
nas ltimas trs dcadas: uma interpretao. 2010. Dissertao (Mestrado) Univer-
sidade de Campinas (Unicamp), Instituto de Economia, 2010a.
______. A gesto da poltica cambial chinesa: as lies do perodo da crise fnanceira de
2008. Boletim de Economia e Poltica Internacional, n. 4, p. 31-40, out./dez. 2010b.
161 A Articulao Produtiva Asitica e os Efeitos da Emergncia Chinesa
LEMOINE, F.; NAL-KESENCI, D. Assembly trade and technology transfer:
Te case of China. World Development, v. 32, n. 5, May 2004.
LI, S.; XIA, J. Te roles and performance of State Firms and Non-State Firms in
Chinas economic transition. World Development, v. 36, n. 1, p. 39-54, 2008.
MACADAR, B. M. Os investimentos diretos no exterior dos pases em desen-
volvimento e a experincia brasileira recente. Revista Indicadores Econmicos
FEE, v. 35, n. 3, p. 29-36, fev. 2008.
MARTINS, A. R. A.; LEO, R. P. F. Os desafos da insero externa vietnamita:
o papel decisivo do investimento direto estrangeiro. Boletim de Economia e
Poltica Internacional, n. 6, p. 29-38, abr./jun. 2011.
MCKINNON, R. I.; OHNO, K. Dollar and Yen: resolving economic confict
between the United States and Japan. Cambridge: MIT Press, 1997.
MCKINNON, R. I.; SCHNABL, G. China: a stabilizing or defationary infuence
in East Asia? Te problem of conficted virtue. Hong Kong: Hong Kong Institute
for Monetary Research, Dec. 2003 (Working Paper, n. 23).
MEDEIROS, C. A. Globalizao e insero internacional diferenciada da sia e da
Amrica Latina. In: TAVARES, M. C.; FIORI, J. L. (Org.). Poder e dinheiro: uma
economia poltica da globalizao. Petrpolis: Editora Vozes, 1997. p. 279-346.
______. Razes estruturais da crise fnanceira asitica e o enquadramento da Coria.
Economia e Sociedade, n. 11, p. 151-172, dez. 1998.
______. China: entre os sculos XX e XXI. In: FIORI, J. L. (Org.). Estados e
moedas no desenvolvimento das naes. Petrpolis: Editora Vozes, 1999.
______. A China como um duplo plo na economia mundial e a recentraliza-
o da economia asitica. Revista de Economia Poltica, So Paulo, v. 26, n. 3,
p. 577-594, jul./set. 2006.
______. Integrao produtiva: a experincia asitica e algumas referncias
para o Mercosul. In: ALVAREZ, R.; BAUMANN, R.; WOHLERS, M.
(Org.). Integrao produtiva: caminhos para o Mercosul. Braslia: Agncia
Brasileira de Desenvolvimento Industrial, 2010, p. 252-303.
MELIN, L. E. O enquadramento do iene: a trajetria do cmbio japons desde
1971. In: TAVARES, M. C.; FIORI, J. L. (Org.). Poder e dinheiro: uma econo-
mia poltica da globalizao. Petrpolis: Editora Vozes, 1997, p. 347-382.
OZAWA, T. Pax Americana-led macro-clustering and fying geese-style catch-up
in East Asia: mechanisms of regionalized endogenous growth. Journal of Asian
Economics, v. 13, n. 6, p. 699-713, 2003.
162 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
PALMA, G. Gansos voadores e patos vulnerveis: a diferena da liderana do Japo
e dos Estados Unidos, no desenvolvimento do Sudeste Asitico e da Amrica Latina.
In: FIORI, J. L. (Org.). O poder americano. Petrpolis: Editora Vozes, 2004.
SHAMBAUGH, D. China engages Asia: reshaping the regional order. International
Security, v. 29, n. 3, p. 64-99, Winter 2005.
TAKAGI, S. Te yen and its East Asian neighbors, 1980-1995: cooperation or
competition. In: ITO, T.; KRUEGER, A. O. (Ed.). Changes in exchange rates
in rapidly developing countries: theory, practice, and policy issues. Chicago, IL:
University of Chicago Press, 1999.
TEIXEIRA, A. O segredo dos preos chineses. Revista poca Negcios, Rio
de Janeiro, 18 set. 2008. Disponvel em: <http://epocanegocios.globo.com/>.
Acesso em: 29 jun. 2010.
TORRES FILHO, E. T. O mito do sucesso: uma anlise da economia japonesa
no ps-guerra (1945-1973). 1983. Dissertao (Mestrado) Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ), Instituto de Economia, 1983.
______. A crise da economia japonesa nos anos 90: impactos da bolha especulativa.
Revista de Economia Poltica, v. 17, n. 1 (65), p. 5-19, jan./mar. 1997.
WONG, J. Chinas rise and East Asian economies: towards a sino-centric regional
grouping? In: ITO, H.; HAHN, C. H. (Org.). Te rise of China and structural
changes in Korea and Asia. Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, 2010.
YU, Y. Managing capital fows: the case of the Peoples Republic of China. Tokyo:
Asian Development Bank Institute, Mar. 2008 (ADB Institute Discussion Paper, n. 96).
ZHANG, C. et al. Promoting Enterprise-Led Innovation in China. Washington,
DC: Te World Bank, 2009.
ZONENSCHAIN, C. N. O caso chins na perspectiva do catch-up e das
instituies substitutas. 2006. Tese (Doutorado) Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro (UFRRJ), Instituto de Cincias Humanas e Sociais, 2006.
SITES
<http://www.thenews.com.pk/TodaysPrintDetail.aspx?ID=51652&Cat=3&
dt=6/10/2011>.
<http://www.ceicdata.com>.
163 A Articulao Produtiva Asitica e os Efeitos da Emergncia Chinesa
ANEXOS
GRFICO 1A
Evoluo da corrente de comrcio chinesa com Hong Kong 1995-2009
(Em US$ milhes correntes)
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Saldo Exportaes Importaes
Fonte: Handbook of Statistics/Unctad.
Elaborao do autor.
GRFICO 2A
Evoluo da corrente de comrcio chinesa com o Japo e os NIE-1 1995-2009
(Em US$ milhes correntes)
-150.000
-75.000
0
75.000
150.000
225.000
300.000
375.000
450.000
Saldo
2
Saldo
1
Exportaes
1
Exportaes
2
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fonte: Handbook of Statistics/Unctad.
Elaborao do autor.
Notas:
1
No inclui Hong Kong.
2
Inclui Hong Kong.
164 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
TABELA 1A
Pauta de importaes chinesas oriunda da SAARC (excluindo a ndia) 1995-2009
(Em %, acumulada a cada trinio)
1995-1997 1998-2000 2001-2003 2004-2006 2007-2009
Commodities e petrleo 21,5 10,6 6,8 21,3 27,0
Intensivos em trabalho e recursos naturais 76,1 85,3 83,8 72,8 67,6
Baixa intensidade tecnolgica 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3
Mdia intensidade tecnolgica 2,0 2,7 8,1 4,6 4,3
Alta intensidade tecnolgica 0,3 1,1 1,1 1,0 0,7
No classicados 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Fonte: Handbook of Statistics/Unctad.
Elaborao do autor.
CAPTULO 4
CHINA E NDIA NO MUNDO EM TRANSIO: O SISTEMA
SINOCNTRICO E OS DESAFIOS INDIANOS
*
Diego Pautasso
**
1 INTRODUO
As relaes sino-indianas remontam formao destas civilizaes milenares, in-
tegrao destas regies no moderno sistema mundial, aos desafos da reconstruo
nacional no ps-Segunda Guerra e rpida projeo destes pases no ps-Guerra Fria.
A delimitao do nosso trabalho, entretanto, concentra-se nas relaes entre China
e ndia no ps-Guerra Fria (1991-2011), embora recorra ao breve histrico da inte-
rao bilateral. O objetivo proposto visa analisar a insero internacional da China e
seus desdobramentos sobre a ndia, de modo a compreender a dinmica regional e a
prpria transio em curso no sistema internacional.
A premissa fundamental que o sistema internacional entrou em um pero-
do de transio desde a dcada de 1970, cujo resultado tem sido a reestruturao
econmica e o reordenamento de poder no mundo. Com efeito, China e ndia
representam as novas confguraes de poder que se desenvolvem nos interstcios
das estruturas hegemnicas de poder forjadas pelos Estados Unidos no ps-Se-
gunda Guerra. O argumento central que a transio sistmica, a ascenso sino-
-indiana e o reposicionamento dos Estados Unidos compem um nexo insepa-
rvel e fundamental compreenso das relaes internacionais contemporneas.
O artigo se prope a contribuir para o debate da transio sistmica a partir
da ascenso chinesa e de suas relaes com a ndia. Para tanto, o trabalho foi orga-
nizado da seguinte forma: na seo 2 reconstrumos um breve histrico das relaes
sino-indianas, considerando as oscilaes histricas no relacionamento bilateral e
os desafos nacionais; na seo 3 abordamos a ascenso da China e a aproximao
com a ndia a partir da mudana operada pelo fm da bipolaridade e da rivalidade
sino-sovitica, cujo resultado foi o aprofundamento da integrao asitica; e, por
fm, na seo 4, discorremos sobre o papel de China e ndia na transio sistmica.
* Agradeo ao nanciamento da pesquisa pelo Ncleo de Pesquisas e Publicaes da Escola Superior de Propaganda
e Marketing (NuPP/ESPM) e o apoio dos monitores de pesquisa Matheus Tatsch e Adriana Albanus.
** Doutor e mestre em Cincia Poltica e graduado em Geograa pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS). Atualmente professor de Relaes Internacionais da ESPM.
166 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
2 BREVE HISTRICO DAS RELAES SINO-INDIANAS
O baixo grau de interao sino-indiana no signifcou, historicamente, que no
houvesse conexo entre o desenvolvimento destas regies. Ao contrrio, mesmo
em perodos de rivalidade e distanciamento, China e ndia condicionaram-se ain-
da que indiretamente. Por isso, apesar do carter autocentrado de suas dinmicas
sociais, da distncia dos centros geoeconmicos o indiano, na plancie indo-
-gangtica, e o chins, nos vales frteis junto ao Pacfco e da barreira natural re-
presentada pela Cordilheira do Himalaia (SIDHU; YUAN, 2003), houve impor-
tantes elementos de interao no passado destas civilizaes, como ilustra o caso
do budismo no passado ou da nuclearizao indiana na atualidade, bem como da
relativa subordinao histrica no processo de insero externa dos dois pases.
1
Aps a Segunda Guerra Mundial, China e ndia iniciariam um ciclo
histrico de reconstruo nacional, tendo de superar o atraso econmico, os
profundos confitos sociais e a fragmentao e/ou as perdas territoriais. A des-
colonizao indiana, em 1947, aps a retirada britnica, produziu confitos
que culminaram na fragmentao do Hindusto e formao de um Paquis-
to islmico dividido em ocidental e oriental , alm de uma ndia secular
e multicultural, mas dominantemente hindu (BUZAN; WAEVER, 2003).
2
A Revoluo Chinesa liderada pelo Partido Comunista Chins (PCC), em
1949, representou o fm de um ciclo turbulento em que a renovao nacional
deu-se a partir da destruio das estruturas milenares at ento fundamentais ao
grande Imprio do Meio (BRAUDEL, 1989).
A partir desses processos, a China e a ndia se aproximaram mediante o
estabelecimento das relaes diplomticas em abril de 1950. Alis, a ndia foi um
dos primeiros pases a reconhecer a Repblica Popular da China, proclamada em
1949. Apesar das diferenas ideolgicas e das disputas fronteirias, a aproximao
1. A insero da China e da ndia no moderno sistema mundial foi parte de um processo concomitante, de um lado,
de emergncia do poder ocidental e, de outro, de desarticulao da economia asitica. Contudo, a integrao su-
bordinada de ambos os pases guardou especicidades, pois, enquanto na China foi conveniente a preservao da
unidade poltica, na ndia, a estratgica britnica deu-se por meio do desmoronamento da autoridade imperial em
1740 e da formalizao da dominao em 1858 (ARRIGHI; SILVER, 2001, p. 227-235). Na China, as Guerras do pio
(1839-1842 e 1856-1860) abriram um ciclo de desestabilizao, crises e revoltas at a Revoluo Chinesa (1949),
dando sentido expresso sculo de humilhaes. Na ndia, da mesma forma, a Revolta dos Cipaios (1857-1858)
implicou a consolidao do processo de colonizao, uma vez que a Companhia Inglesa das ndias Orientais transferiu
o poder para a administrao direta do governo ingls. De qualquer forma, as duas grandes civilizaes tiveram uma
insero internacional subordinada em meados do sculo XIX e encerraram este ciclo em meados do sculo XX. No
caso da China, apesar da soberania formal, o pas enfrentou um sculo de desorganizao econmica, desestruturao
social e desestabilizao poltica, culminando em perdas territoriais expressivas. No caso da ndia, com a soberania
completamente desfeita, os britnicos controlaram todos os canais polticos e a produo da riqueza. Cabe ilustrar
que o governo da Gr-Bretanha, na ndia, destruiu a expressiva indstria txtil e a converteu em mercado de cerca de
45% da produo britnica e, na China, controlou diretamente alfndegas por 45 anos, alm de domnios territoriais
formais, como Hong Kong (CHANG, 2004). Ou seja, coero e tratados desiguais conformaram a ascenso britnica e
o consequente declnio sino-indiano.
2. O conito interestatal criou 15 milhes de refugiados, ao cruzar as novas fronteiras com o Paquisto, gerando
mais de 2 milhes de mortos na subsequente guerra civil e trazendo seus efeitos diplomticos at a atualidade
(HOBSBAWM, 1994).
167 China e ndia no Mundo em Transio: o sistema sinocntrico e os desaos indianos
bilateral resultou na declarao conjunta sobre os Cinco Princpios da Coexis-
tncia Pacfca, em 1954, pela iniciativa de Zhou Enlai
3
e Jawaharlal Nehru.
4
Estes princpios estavam assentados nos seguintes pontos: i) respeito soberania;
ii) no agresso; iii) no ingerncia em assuntos internos; iv) igualdade e benef-
cio mtuos; v) e coexistncia pacfca (PINTO, 2000).
Essa aproximao sino-indiana deu-se em um perodo marcado pelo incio
de um processo de multilateralizao das relaes internacionais. A bipolariza-
o formal, entre Estados Unidos e Unio das Repblicas Socialistas Soviticas
(URSS), coincidia com a multilateralizao dos emergentes, manifesta na pro-
jeo do Terceiro Mundo no cenrio internacional, na consolidao do campo
socialista, na obteno de um relativo equilbrio nuclear americano-sovitico e
na recuperao econmica da Europa ocidental e do Japo (VIZENTINI, 2004).
A Conferncia de Bandung, na Indonsia, em 1955, foi a base para a criao do
Movimento dos Pases No Alinhados (MNA) (I Conferncia em Belgrado
1961),
5
a partir das lideranas iugoslavas, egpcias, indonsias e indiana. Assim,
a diplomacia da ndia se tornaria lder do MNA, mas seria protagonista tambm
da Comisso das Naes Unidas sobre Comrcio e Desenvolvimento (United
Nations Conference of Trade and Development Unctad) e do foro de Unidade
Afro-Asitica na Assembleia Geral da Organizao das Naes Unidas (ONU)
e do G-77 (NARLIKAR, 2009). Nesse nterim, a China tambm ampliou seus
espaos de atuao por meio da forte aproximao com o sistema sovitico que
signifcou o avano das cooperaes nas esferas econmicas e polticas, como na
assinatura de acordos de transferncia de tecnologia e de apoio ao desenvolvimen-
to industrial chins (LEO, 2010).
De todo modo, as relaes sino-indianas se deterioraram a partir da repres-
so chinesa revolta no Tibet, em 1959, do consequente asilo poltico dado ao
Dalai Lama pelo governo da ndia e do no reconhecimento chins da linha Mac
Mahon estabelecida pelos britnicos em 1914 para delimitar a fronteira. As ten-
ses bilaterais tiveram como estopim a guerra de fronteira de 1962, vencida com
folga pelo exrcito chins, apesar dos soviticos terem fornecido auxlio militar
ndia (KENNEDY, 1989). O contexto regional tornou-se mais agudo uma vez
que as relaes sino-soviticas tambm se deterioraram nos anos 1960, o que oca-
sionou a guerra entre os dois pases na faixa da Sibria, em 1969, e a militarizao
da fronteira com a China ao longo de toda a extenso de 6.400 quilmetros, com
mais de 40 divises soviticas (KISSINGER, 1997).
3. Zhou Enlai foi primeiro-ministro da China (1949-1976) e vice-presidente do PCC (1956-1969 e 1971-1976).
4. Jawarlal Nehru foi primeiro-ministro da ndia entre 1947 e 1964.
5. Os princpios centrais do MNA que tinham como lderes Tito (Iugoslvia), Nasser (Egito), Sukharno (Indonsia) e
Nerhu (ndia) eram o neutralismo, a defesa da descolonizao e a nfase na soberania nacional.
168 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
No caso da China, os confitos regionais e a marginalizao do sistema capi-
talista aprofundaram o isolamento internacional e infuenciaram a radicalizao
da Revoluo Cultural (1966-1976). Isso se refetiu tambm na esfera econmica,
uma vez que j na dcada de 1960 a China se encontrou em situao de grande
restrio externa chinesa, em funo da deteriorao dos acordos estabelecidos
com pases estrangeiros, notadamente com a URSS, e da incapacidade de resposta
do seu setor exportador.
6
No caso da ndia, o resultado principal foi a aproxima-
o com a URSS e converso a uma poltica externa mais pragmtica e realista.
Assim, a dcada de 1960, representou uma crescente assertividade e pragmatismo
da diplomacia indiana decorrente da busca pela estabilizao regional e dos con-
fitos que teve de enfrentar.
7
Do ponto de vista econmico, a aproximao com a
URSS motivou a adoo de programas econmicos bastante similares a aqueles
praticados pelos soviticos. No entanto, apesar do apoio existente no campo in-
ternacional pela URSS , as polticas demasiadamente voltadas para dentro e
no expostas concorrncia externa limitaram seus avanos.
8
Aps a morte de Nerhu em 1964, o governo de Indira Gandhi (1966-1977)
fortaleceu as polticas de defesa, recusou o apoio aos Estados Unidos na Guer-
ra do Vietn, desenvolveu o programa nuclear que levou aos testes de 1974
uma dcada aps a China e assinou o Tratado de Paz, Amizade e Cooperao
com a URSS em 1971 (GUIMARES, 2010), fragilizando o discurso do pacifs-
mo e do neutralismo da ndia (PIMENTEL, 2007). Na verdade, confgurou-se,
6. Aps se envolverem em conitos na esfera militar com a URSS principal fornecedora de crdito e recursos materiais
para a China os chineses perderam os subsdios nanceiros e apoios tcnicos e tecnolgicos fornecidos pelos sovi-
ticos. Este fato somado diculdade de obter crditos dos mercados capitalistas impediu que a China continuasse im-
portando mquinas e equipamentos, bem como absorvendo tecnologias estrangeiras fundamentais para o progresso
tcnico de sua indstria (LEO, 2010). Esse cenrio foi agravado, em primeiro lugar, pelo baixo nvel das exportaes
da China, que era explicada pelo pequeno nmero de mercados abertos para os seus produtos e pela base exportadora
muito pouco diversicada e em segundo lugar, pela necessidade crescente de importaes de produtos primrios,
principalmente depois dos insucessos da poltica agrcola implementada entre o nal dos anos 1950 e o comeo dos
1960. (...) Embora o pas ainda contasse com alguns recursos oriundos de Hong Kong, esses eram insucientes tanto
para execuo dos programas industriais, como para alimentar sua populao (LEO, 2010, p. 46-47).
7. So os casos da reanexo de Goa portuguesa (1961); da derrota para a China na guerra de fronteira (1962); das
guerras com o Paquisto (1965 e 1971), incluindo esta ltima que culminou na independncia de Bangladesh; do
fortalecimento da presena no Sikkim (1975), com o m do protetorado britnico; e do envio de tropas para controlar
a guerra civil no Sri Lanka no m dos anos 1980 (OLIVEIRA, 2009). Estes constrangimentos explicaram, em parte, a
racionalidade da histrica intransigncia da ndia nas negociaes internacionais e a busca pelo fortalecimento dos
meios de defesa nacional (NARLIKAR, 2009).
8. (...) o modelo [econmico indiano] foi fortemente inuenciado, por sua vez, pela experincia inicial de desenvolvi-
mento socialista da Unio Sovitica, na qual tambm se priorizava a constituio de um departamento autnomo de
bens de produo. Da por que a nfase da poltica industrial indiana (...) passou a ser a criao e o desenvolvimento
de um setor de bens de capital a partir de meados da dcada de 1950. Para viabilizar a consecuo desse objetivo pre-
cpuo, a poltica industrial passou a contar com dois mecanismos bsicos, que s viriam a ser denitivamente extintos
com as reformas econmicas de 1991: o sistema de licenciamento industrial e o sistema de licenciamento de impor-
taes. Ambos consistiam, na prtica, em impor restries criao de capacidade produtiva (caso do licenciamento
industrial) e concorrncia externa (caso do licenciamento de importaes) (NASSIF, 2006, p. 20-21). Apesar dos
avanos observados em certos segmentos da indstria, (...) diante da quase total ausncia de competio domstica
e internacional proporcionada por dcadas de regime de licenciamento industrial e de importaes, a economia india-
na operava sob condies praticamente autrquicas. O grau de inecincia econmica podia ser sinalizado pelo bai-
xssimo coeciente de importaes, mas comprovado principalmente pelo vis antiexportador (NASSIF, 2006, p. 24).
169 China e ndia no Mundo em Transio: o sistema sinocntrico e os desaos indianos
progressivamente, o que chamamos de diplomacia cruzada, j que se formaram
alinhamentos visando equilibrar a correlao de foras em mbito regional e
internacional (PAUTASSO, 2006). Ou seja, a URSS aproximou-se da ndia,
enquanto a China buscava escapar ao isolamento internacional por meio de uma
aproximao inesperada com os Estados Unidos e do apoio ao Paquisto.
Se, no plano externo, a aproximao da China com os Estados Unidos
visava escapar ao isolamento, no plano interno, era a expresso de disputas no
seio do PCC, manifesta na derrota da Gangue dos Quatro,
9
no fm da Revoluo
Cultural (1966-1976) e na consolidao da liderana de Deng Xiaoping que
liderava o grupo opositor Revoluo Cultural (MARTI, 2007). A poltica de
reformas iniciada em 1978 representou uma correo de rumos e a consolidao
de um novo ciclo de desenvolvimento que se estende at a atualidade. A diplo-
macia chinesa aproveitou-se do dinamismo regional e da aproximao com os
Estados Unidos para reintegrar-se ao sistema mundial. Em vez da adoo de
polticas liberalizantes, to em voga a partir dos anos 1980, o governo chins foi
cauteloso, mantendo os instrumentos de planejamento e estabelecendo experi-
ncias graduais de abertura.
10
Desse modo, o Estado chins conseguiu colocar
em marcha um processo de abertura, cuja atuao do capital estrangeiro foi limi-
tada a setores considerados prioritrios a fm de atrair recursos (fnanceiros e tec-
nolgicos) para fortalecer sua industrializao e, ao mesmo tempo, estimular o
desenvolvimento de suas empresas estatais. Ademais, o contexto de aproximao
com os Estados Unidos signifcou a abertura do mercado norte-americano para
as exportaes chinesas, bem como a concesso de benefcios para ampliao do
comrcio sino-americano, fatores fundamentais para a superao da restrio
externa chinesa no ps-1980.
11
J a ndia, alm dos confitos com a China e o Paquisto, estava envolvida
em disputas territoriais com Bangladesh, em 1979, pelo controle de uma ilha no
Golfo de Bengala. Associados a estes confitos regionais, a ndia enfrentou srios
problemas domsticos decorrentes dos choques petrolferos (1973 e 1979) que
golpearam a economia indiana em razo da dependncia das importaes dos re-
cursos energticos fsseis. As exportaes no estavam gerando divisas para com-
pensar as importaes de petrleo e alimentos para uma populao que crescia
cerca de 15 milhes de habitantes por ano. As resistncias s campanhas de este-
9. A Gangue dos Quatro foi um grupo poltico com origem em Xangai liderada pela esposa de Mao, Jiang Qing, que
formulou as bases da Revoluo Cultural ao lado de Mao e Lin Biao [ principal articulador poltico do perodo]. Alm
dela, faziam parte Zhang Chunqiao, Yao Wenyuan e Wang Hongwen (LEO, 2010, p. 28).
10. Sobre esse ponto, ver Nolan (2004). Alm disso, a comparao entre a trajetria sovitico-russa e a chinesa ilustra
a diferena de enfoque e ritmo das reformas. Ver Medeiros (2008).
11. O comrcio bilateral entre os dois pases deu um salto no binio 1978-1980, tornando os Estados Unidos um
dos parceiros da China naquele momento. (...) [Exemplo disso foi que nesse trinio], as exportaes da China para
os Estados Unidos se expandiram de US$ 366 milhes para US$ 1,1 bilho (LEO, 2010, p. 48). Ver Leo (2010) e
Acioly (2005).
170 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
rilizao orientadas pelo Banco Mundial fzeram o governo de Indira Gandhi de-
cretar estado de emergncia em 1975 e estabelecer censura imprensa. No mesmo
contexto, a interveno da URSS no Afeganisto aumentou o apoio fornecido ao
Paquisto tanto por parte do governo da China quanto por parte do governo dos
Estados Unidos. De qualquer forma, cabe destacar que tanto a poltica externa da
China como a da ndia foram condicionadas pela insero e pelo posicionamento
internacional do vizinho.
Aps esse ciclo de confitos e disputas diplomticas, os anos 1980 e 1990
marcaram uma relativa distenso nas relaes bilaterais sino-indianas. O governo
sovitico de Mikhail Gorbatchev (1985-1991) buscou uma aproximao com a
China e incitou Rajiv Gandhi a buscar o mesmo caminho em 1988, em visita
a Pequim (OLIVEIRA, 2009). A retomada dessas relaes bilaterais refetiu o
esgotamento da Guerra Fria, no plano internacional, e a reorientao das prio-
ridades destes Estados, nos planos domstico e regional. De um lado, a China
acelerou a arrancada industrial buscando aprofundar a interdependncia econ-
mica com os Estados Unidos e fortalecer a insero regional, ao mesmo tempo
que se movimentava para universalizar a insero internacional, sobretudo aps
os constrangimentos advindos da represso na Praa da Paz Celestial (1989) e dos
efeitos do fm do campo socialista-sovitico. De outro, a ndia encontrava-se em
cenrio ainda mais complexo: o repentino desaparecimento da URSS, que era o
tradicional aliado poltico, o fornecedor de equipamentos militares e o importan-
te parceiro comercial; o relacionamento frgil com os Estados Unidos, que se re-
afrmavam como superpotncia; o alto nvel de percepo de ameaa com relao
aos vizinhos (China e Paquisto); e um conjunto de problemas domsticos, que
iam da demografa ao estrangulamento da estrutura econmica.
3 A ASCENSO CHINESA E AS RELAES COM A NDIA: IMPACTOS POLTICOS
E ECONMICOS
O distencionamento na ltima dcada da Guerra Fria (1980) conduziu nor-
malizao no relacionamento diplomtico sino-indiano. Com o fm da URSS,
os alinhamentos diplomticos e os padres de amizade/inimizade foram com-
pletamente alterados, j que eram profundamente condicionados pelo confito
sino-sovitico. Dessa forma, a sensvel melhora no relacionamento sino-indiano
entre 1980 e 1990 coincidiu com a transio sistmica e o reordenamento do
poder mundial, a superao dos padres de inimizade forjados na Guerra Fria, e
os objetivos de projeo regional e/ou internacional de China e ndia. Com isso, a
aproximao bilateral intensifcou visitas entre governantes e militares; a expanso
da cooperao no comrcio de bens e servios e, mais recentemente, nos investi-
mentos produtivos; a recuperao das negociaes sobre as disputas fronteirias;
e o envolvimento em processos e negociaes multilaterais.
171 China e ndia no Mundo em Transio: o sistema sinocntrico e os desaos indianos
Nesse sentido, a onda chinesa de desenvolvimento desencadeada pelas re-
formadas conduzidas por Deng Xiaoping (1978) pode ser sistematizada em dois
planos. No plano internacional, foi uma resposta ativa ao perodo depressivo da
economia mundial ps-1973 e ao ciclo de globalizao que se seguiu, a partir de
uma bem formulada reaproximao com os Estados Unidos. No plano interno,
foi uma resposta ao isolamento diplomtico decorrente da ruptura sino-sovitica
e aos percalos internos produzidos pela Revoluo Cultural. Em funo da con-
juntura adversa, a China desencadearia uma fexo poltica nos assuntos doms-
ticos e diplomticos ao realizar uma espcie de gigantesca e prolongada Nova
Poltica Econmica (NEP), que recolocou na modernizao econmica, e no
na luta de classes, o ncleo da superao do atraso e do isolamento diplomtico
chins (LOSURDO, 2004, p. 67).
A legitimao do regime poltico centralizado no PCC passaria pela rpida
modernizao de vrias esferas econmicas (agricultura, indstria, sistema tecno-
lgico e militar).
12
Esses programas de modernizao, embora sujeitos abertura
para o setor privado e para receber apoio do capital estrangeiro, foram fortemente
coordenados pelo Estado principalmente na defnio dos objetivos de longo
prazo e no direcionamento dos investimentos pblicos e do crdito bancrio ,
de modo a permitir um desenvolvimento da economia sem interferir na esta-
bilidade poltica e social. Por isso, como bem defniu Medeiros (1999, p. 397),
a subordinao das metas econmicas aos objetivos polticos importante no
caso da China. Em outras palavras, as reformas e a abertura da China foram
enquadradas aos desgnios do desenvolvimento nacional, como bem ilustra a in-
ternalizao de tecnologia, o controle sobre o sistema fnanceiro, a regulao do
investimento direto estrangeiro (IDE), a poltica comercial assertiva, entre outras
(LEO, 2010). Como bem destacado (MEDEIROS, 1997), estes pases refetem
formas diferenciadas de insero e integrao economia mundial, sobretudo em
comparao com o padro adotado pela Amrica Latina durante os anos 1990,
com as reformas liberalizantes.
Alm do desenvolvimento econmico, os objetivos centrais estabeleci-
dos pela diplomacia e pelo governo chins no longo prazo tm sido a inte-
gridade territorial e a ampliao do status internacional do pas. Para tanto,
as aes prioritrias da poltica externa chinesa tm oscilado entre os grandes
poderes (Unio Europeia, Estados Unidos, Rssia e Japo) ou o entorno re-
gional (sia do Sul, do Leste e Central). Partindo dessa lgica, para a China a
ndia foi enquadrada como importante ator regional e no como concorren-
te, apesar de ser vista como fundamental estabilizao das fronteiras do sul;
12. Esses quatro setores foram denidos como prioritrios, naquelas reformas econmicas lanadas por Deng Xiaoping
no m dos anos 1970. No por acaso, essas reformas foram cunhadas como Quatro Modernizaes.
172 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
expanso das oportunidades econmicas (comrcio e investimentos); e
dissuaso de um eventual alinhamento indo-americano voltada conteno
da ascenso chinesa (MEDEIROS, 2009).
No caso da ndia, a insero internacional e o desenvolvimento respon-
deram s mudanas internacionais decorrentes do fm da Guerra Fria e da de-
sintegrao da URSS; das difculdades domsticas associadas ao baixo nvel de
crescimento, exploso populacional, crescente dependncia energtica, entre
outros; ao xito do modelo de desenvolvimento dos pases da sia do Leste, com
destaque para a China. Alm disso, fatores conjunturais como a Guerra do Golfo
recrudesceram a crise, j que forou a repatriao de milhares de trabalhadores in-
dianos e interrompeu as remessas de dinheiro para a ndia, ampliando o dfcit no
balano de pagamentos em uma economia que apresentava crescimento voltil e
infao (GUIMARES, 2010). Com efeito, o governo indiano foi condicionado
a desencadear as reformas no incio dos anos 1990.
As reformas econmicas do governo de Narashimha Rao no incio dos anos
1990 basearam-se na fexibilizao do modelo de planejamento inspirado na URSS,
bem como na execuo de uma abertura extremamente pragmtica, e no na adoo
da agenda neoliberal. Em outras palavras, o Estado indiano conduziu as reformas,
simplifcando a regulamentao do setor industrial, facilitando os IDEs e reduzindo
as tarifas de importao (GUIMARES, 2010), sem, contudo, abrir mo de um
projeto de desenvolvimento nacional. Assim, apesar de iniciar um processo de aber-
tura ao capital estrangeiro e de maior exposio da estrutura nacional concorrn-
cia, o que motivou um afrouxamento daquela poltica de licenciamento industrial
e s importaes a fm de atrair novos investimentos privados e do exterior, o pas
no abandonou as empresas estatais. Cerca de 80% das operaes bancrias ainda
permaneceram em bancos estatais. E o pas caracterizou-se, desde os anos 80, pelos
usos intensivos de dfcits fscais como mecanismo de dinamizao da economia
(OLIVEIRA, 2006, p. 53). Ademais, a ndia manteve o controle das contas externas
de capital, administrando as operaes cambiais o que permitiu a estabilidade da
taxa de cmbio , bem como realizou uma liberalizao gradual do protecionismo
tarifrio de modo a subsidiar a modernizao de setores considerados prioritrios.
13
De qualquer forma, as reformas econmicas tm sido preservadas ainda que
as mudanas no quadro poltico indiano a partir da vitria do partido represen-
tante dos nacionalistas hindus, em 1998, o Bharatya Janata Party (BJP). Ou seja,
a despeito de um novo cenrio poltico no qual o Partido do Congresso passou
a no dominar sozinho a cena poltica, como ocorreu entre 1947 e 1998 que
ocasionou governos com frgeis coalizes, o desenvolvimento indiano tem man-
tido uma trajetria razoavelmente estvel (PIMENTEL, 2007).
13. Para uma anlise das reformas econmicas indianas, ver Nassif (2006).
173 China e ndia no Mundo em Transio: o sistema sinocntrico e os desaos indianos
No campo da poltica externa, o governo da ndia defniu quatro frentes
geoestratgicas, sendo que uma delas refere-se s relaes sino-indianas: i) re-
soluo dos problemas regionais principalmente com pases rivais (Paquisto),
instveis (Nepal) e/ou frgeis (Bangladesh); ii) ampliao do seu raio de ao
estratgica para alm do Oceano ndico, com destaque para a frica e o Sudeste
da sia; iii) fortalecimento das relaes com a China para resolver os contencio-
sos e obter vantagens da cooperao econmico-comercial; e iv) construo de
uma parceria com os Estados Unidos para lograr maior projeo internacional
(LAVOY, 2007 apud OLIVEIRA, 2008). Dentro destas frentes geoestratgicas,
outros objetivos subjacentes foram traados: fortalecer a segurana energtica,
diante da crescente demanda por petrleo; impulsionar o desenvolvimento e
a integrao do pas economia mundial, crucial para manter a estabilidade e
superar o atraso; e universalizar a poltica externa ampliando a presena inter-
nacional em outras regies e/ou em fruns multilaterais, como bem ilustra o
Frum IBAS (ndia/Brasil/frica do Sul).
Foi nesse contexto de mudanas polticas e econmicas dos dois pases
que motivaram um avano de suas estruturas econmicas e maior capacidade de
interveno da regio , bem como de transformaes no sistema internacional
principalmente no papel desempenhado pelos Estados Unidos na sia , que as
relaes sino-indianas foram redefnidas.
3.1 Os impactos polticos
A trajetria de desenvolvimento e a insero internacional de China e ndia
tm sido condicionadas reciprocamente. Isto , polticas sino-indianas de grande
relevncia, tais como questo militar-nuclear, comrcio internacional/bilateral,
alinhamentos diplomticos e ambies polticas, foram defnidas levando-se
em considerao tambm a atuao do vizinho. Ademais, dadas as evidentes e
importantes conexes explicativas ligando China e ndia, a anlise das relaes
bilaterais precisou ser enquadrada no contexto internacional para fornecer ele-
mentos para o entendimento das percepes sino-indianas, bem como para a
dinmica de reorganizao do sistema.
O projeto nuclear da ndia, por exemplo, esteve diretamente ligado
s relaes com a China. Dessa perspectiva, chamou ateno a relevncia
dos imperativos de segurana regionais e a ambio indiana por adquirir o
status de grande potncia e o entendimento de que a nuclearizao con-
tribuiria para tal objetivo. Os testes nucleares de 1998, conhecidos como
Pokhran II, representaram a realizao destes objetivos do governo da ndia
e explicaram a resistncia oposio internacional, assim como s sanes
decorrentes da Resoluo n
o
1.172 da ONU. Com efeito, a opo da n-
dia refletiu um crescente realismo combinado com a ambio de no ser
174 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
coadjuvante na poltica internacional, desde sua liderana no MNA at sua
histrica rejeio em assinar o assimtrico Tratado de No Proliferao de
Armas Nucleares (TNP).
14
Entretanto, ao mesmo tempo que reagiu s sanes e aos constrangimentos,
a poltica externa indiana realizou esforos para ser aceita na comunidade inter-
nacional como potncia nuclear. Com isso, o primeiro-ministro indiano buscou
o reconhecimento dos Estados Unidos, de modo que justifcou a nuclearizao ao
governo de Bill Clinton como uma resposta ameaa chinesa. Esse fato somado
aos atentados de 11 de Setembro e guerra contra o terrorismo permitiram
diplomacia indiana fortalecer as relaes com os Estados Unidos e ganhar res-
paldo no apenas para reprimir os grupos extremistas islmicos, como tambm
para aumentar sua capacidade de interveno poltica na sia. Para os Estados
Unidos, fcou claro, a partir de 2001, que a ndia seria um pas capaz de equilibrar
o desafo representado pela ascenso da China no continente asitico. Segundo
infuente formulador da poltica externa dos Estados Unidos, Henry Kissinger, a
questo central no era a nuclearizao em si de algum pas, mas se este pas re-
presentava uma ameaa ou no aos interesses dos Estados Unidos; para ele, ndia
e Paquisto eram funcionais aos interesses norte-americanos, diferente do Iraque
ou da Coreia do Norte (KISSINGER, 1998).
Alm disso, mesmo no fazendo parte do TNP, a diplomacia da ndia
mostrou-se disposta a celebrar acordos de no uso em primeira instncia
(no frst use) e de manter o arsenal no nvel mnimo para garantir capacidade
de dissuaso. Do lado dos Estados Unidos, parecia claro que, como a ndia no
retrocederia em sua opo nuclear mesmo diante da oposio internacional,
caberia ao pas explorar as vantagens diplomticas (ALMEIDA FILHO, 2009).
Assim, a nuclearizao indiana no apenas no isolou o pas, como conduziu a
uma srie de acordos de natureza estratgica com os Estados Unidos, como o
Grupo de Cooperao de Alta Tecnologia (2002), a Declarao para Comrcio
de Alta Tecnologia (2003) e, por fm, o importante Acordo de Defesa (2005).
Nestes acordos, os Estados Unidos se comprometeram em transferir tecnologias
de uso dual, cooperar na produo de msseis defensivos, entre outros itens
estratgicos (GUIMARES, 2010; OLIVEIRA, 2008).
Se, para a ndia, as diretrizes de poltica externa obedeceram aos movimen-
tos polticos e ascenso chinesa, a estratgia da China tambm esteve alicerada
s mudanas no contexto regional, principalmente com seus vizinhos, como a
ndia, e atuao norte-americana na regio. As inovaes militares apresentadas
14. Aps dcadas do seu surgimento em 1968, o TNP cristalizou o poder nas potncias centrais ao no produzir o
desarmamento; consentiu com os pases que no raticaram o acordo, como Israel e Paquisto, aliados norte-ame-
ricanos; e no produziu compensaes signicativas aos pases que aceitaram o desarmamento, como o Brasil. Com
o Protocolo Adicional ao TNP, ampliam-se as restries aos pases que esto fora do clube de potncias nucleares.
175 China e ndia no Mundo em Transio: o sistema sinocntrico e os desaos indianos
pelos Estados Unidos desde a Guerra do Golfo em 1991 , em um ambiente de
aproximao desse pas com a ndia, tambm explicaram a prioridade atribuda
pela China ao setor militar, bem como a estratgia chinesa de ampliar sua infu-
ncia militar e econmica na regio.
15
No incio dos anos 1990, o crescimento
dos investimentos para modernizar o setor militar chins particularmente na
Marinha e Aeronutica foi uma resposta s incertezas polticas que emergiram
com a dissoluo da URSS por exemplo, a possibilidade de aumento de confi-
tos territoriais e disputas por recursos nas fronteiras com pases, como Filipinas,
Malsia, Brunei e ndia (SHAMBAUGH, 1994; LEO, 2010).
16
Apesar dessas tenses, no perodo recente foram observados avanos nas
disputas fronteirias entre China e ndia. A normalizao tem passado pelo
reconhecimento chins da soberania indiana sobre o Sikkim, enquanto pela
ndia tem signifcado o reconhecimento da soberania chinesa sobre o Tibet.
A sinalizao da busca por maior estabilidade e segurana foi a abertura, em
julho de 2006, da rota Nathu La, antiga rota comercial que atravessa a Cordi-
lheira do Himalaia e que estava fechada desde a guerra sino-indiana de 1962.
Isso, por sua vez, no signifcou uma desacelerao dos gastos militares dos
dois pases e, muito menos, que os interesses de maior capacidade de interven-
o da regio tivessem sido eliminados.
Justamente em virtude disso, a questo nuclear foi parte de um processo
mais complexo ligado capacidade dissuasria e de projeo de fora desses
pases. Em ambos os casos, alm da competio regional e das ambies in-
ternacionais, houve tanto um imperativo de segurana regional como desafos
associados integridade territorial. Os dados mostram que no tm ocorrido
grandes oscilaes no percentual do produto interno bruto (PIB) dedicado ao
setor militar desde o fm da Guerra Fria. Na China, estes gastos esto por volta
de 2% do PIB, enquanto na ndia chega a 3%. Todavia, a rpida progresso
econmica destes pases fez que o montante dedicado ao setor crescesse subs-
tantivamente. Entre 1997 e 2009, o investimento da China no setor saltou
de US$ 22,6 bilhes para US$ 98,8 bilhes; j na ndia, passou de US$ 17,4
bilhes para US$ 36,6 bilhes (grfco 1).
15. Nesse sentido, a China estabeleceu uma cooperao de segurana regional com a sia Central e Rssia denomi-
nado de Organizao de Cooperao de Xangai. Para uma discusso, ver captulo 7 neste volume.
16. Especicamente sobre as relaes sino-indianas essa questo territorial tem assumido importncia crescente.
O progresso dos encaminhamentos diplomticos tem envolvido as questes de fronteira desde 1993, quando foi
rmado o Acordo sobre a Manuteno da Paz e da Tranquilidade na Atual Linha de Controle, visando reduo das
tropas e promoo de encontros regulares entre comandos militares nas fronteiras.
176 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
GRFICO 1
Evoluo dos gastos militares da China e da ndia
(Em US$)
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
ndia China
Fonte: Stockholm International Peace Research Institute (Sipri).
Elaborao do autor.
No entanto, a questo poltico-territorial central no se remeteu s fron-
teiras, mas sim aos problemas ligados ao Paquisto, uma espcie de fel da
balana nas relaes de poder regionais e nos alinhamentos internacionais
(PAUTASSO, 2006). Na tica dos Estados Unidos, o Paquisto foi crucial para
a estabilizao da sia Central/Afeganisto e para preservar suas posies nesta
regio geoestratgica; para a China, o pas tem sido funcional no condiciona-
mento da aproximao indo-americana, no acesso ao mar da Arbia (porto
de Gwadar) sem passar por Malaca e na estabilizao do oeste chins islmico
(Xinjiang); e para a ndia, os paquistaneses tm desempenhado um papel cen-
tral unidade poltico-territorial e segurana nacional e regional.
3.2 Os impactos econmicos
Alm das questes polticas, o avano das relaes econmicas sino-indianas
tem mostrado grande relevncia. Em primeiro lugar, porque o dinamismo das
economias asiticas foi resultado, entre outros fatores, da formao de uma rede
produtiva e fnanceira da regio. Isto , o desenvolvimento dos pases asiticos
no pde ser entendido isoladamente, mas em um contexto de articulao com
outras naes do continente. Em segundo, pois, ao lado do prprio dinamismo
regional que foi impulsionado pela formao de uma rede de comrcio e investi-
mentos produtivos, o protagonismo chins nessa rede tambm tem motivado
e, em muitos casos, subordinado a aproximao de economias da sia, como a
177 China e ndia no Mundo em Transio: o sistema sinocntrico e os desaos indianos
ndia, com a China. Dessa perspectiva, a integrao e o regionalismo asitico tm
se ampliado e, cada vez mais, sofrido o efeito da ascenso chinesa. Em razo dis-
so, antes de discutir os efeitos dessa ascenso para as relaes econmicas sino-in-
dianas, vale analisar o processo de integrao asitica iniciado nos anos 1980 ,
que permitiu essa emergncia da China condio de potncia regional.
Desde a segunda metade dos anos 1980, quando os Estados Unidos im-
puseram retaliaes comerciais a Japo, Coreia do Sul, Taiwan e Hong Kong,
17
estes pases conduziram a formao de uma economia regional na sia ao im-
pulsionar movimentos sequenciais de investimentos, combinando substituio
de importaes e promoo das exportaes e redefnindo a diviso regional
do trabalho ao deslocar e integrar cadeias produtivas at a crise asitica de
1997 (MEDEIROS, 1997). As empresas exportadoras desses pases passaram
a deslocar suas estruturas de produo para vizinhos prximos do continente
com menor grau de desenvolvimento que possuam grandes mercados con-
sumidores e custos de produo mais baixos, tais como Malsia, Tailndia e
China. Desse modo, as exportaes de Japo, Coreia do Sul, Taiwan e Hong
Kong para terceiros mercados foram sendo substitudas pelas exportaes da
China, Malsia, Tailndia e outros, isto , a produo e a venda externa de
bens realizadas pelo primeiro grupo de pases foram sendo transferidas para o
segundo grupo (LEO, 2010). Esse movimento continuou integrando outras
naes do continente apoiado na ininterrupta expanso comercial chinesa e
nas restries comerciais que afetaram outros pases principalmente depois
de 1995 quando houve um movimento de valorizao cambial Tailndia,
Malsia, Filipinas e Indonsia e avano da abertura fnanceira seguida da
crise asitica de 1998.
Aps a crise asitica, a contnua expanso comercial e produtiva da China,
em curso desde a dcada de 1990, imps novas caractersticas estruturais da in-
tegrao regional, uma vez que o pas passou a exercer um poder gravitacional
crescente a partir da formao de uma economia continental capaz de recriar um
sistema regional sinocntrico, deslocando assim a centralidade regional do Japo.
Tal mudana de posio da China foi percebida por meio de inmeros aspectos,
entre eles, a importncia econmica (maior exportador em 2009 e segundo maior
PIB em 2010); o crescente poder fnanceiro (reservas de US$ 2,5 trilhes); e a
liderana na defnio de acordos econmicos observados na Associao de Na-
es do Sudeste Asitico (Asean+3) e nos acordos bilaterais de swaps de moedas.
17. Tanto na caso da Coreia do Sul, como de Hong Kong e Taiwan, desde o m dos anos 1980, as presses norte-
-americanas se encaminharam para valorizar as moedas desses pases e eliminar concesses comerciais cedidas ante-
riormente. No caso do Japo, essas presses se materializaram nos Acordos de Plaza (1985) que imps uma grande
valorizao ao iene e do Louvre (1987) que estabeleceu cotas s exportaes nipnicas. Para uma discusso, ver
captulo 3 neste volume.
178 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
A centralidade chinesa materializou-se ao longo da dcada de 2000 por
meio do papel de duplo polo
18
na sia exercido pelo pas. Por um lado, afr-
mou-se como produtor mundial de produtos da tecnologia da informao e bens
de consumo industriais aparecendo como o principal produtor de manufaturas
intensivas em mo de obra e tecnologia, ao mesmo tempo , transformando-se
em um exportador lquido para os Estados Unidos. Por outro lado, confgurou-se
como grande mercado para a produo mundial de mquinas e equipamentos
e, sobretudo, de matrias-primas (petrleo, minerais, produtos agrcolas etc.),
transformando-se em um importador lquido para a sia (MEDEIROS, 2006).
Nesse sentido, a ampliao recente das relaes econmicas entre China
e ndia se estabeleceu a partir dessa ascenso chinesa e caracterizou-se por dois
elementos principais, a saber. Em primeiro lugar, a China tem ocupado espaos
econmicos crescentes no sul da sia, gerando uma forte presso competitiva
com as exportaes indianas destinadas a essa regio, uma vez que esse espao
tradicionalmente era uma rea de infuncia econmica da indstria da ndia.
Segundo Holslag (2009, p. 45), essa questo econmica tornou-se ponto de pre-
ocupao pelo lado indiano, pois
() a partir dos anos 2000, grande parte das confederaes econmicas e dos lde-
res comerciais indianos se mostrou apreensiva com o crescimento das importaes
de produtos baratos chineses e da forte concorrncia imposta por esse ltimo pas
em mercados vizinhos, tais como Sri Lanka, Bangladesh, Nepal e Mianmar.
Em segundo lugar,
O crescimento da renda e as exigncias de melhora e avano da infraestrutura urbana,
num cenrio de relativa escassez de recursos minerais, fzeram com que a China au-
mentasse num ritmo muito acelerado suas importaes de commodities. Nesse cen-
rio, a ndia se favoreceu do aumento da demanda chinesa por minrio de ferro, que so
essenciais para ampliao da sua indstria pesada, como metalurgia, siderurgia e outras,
aumentando o volume de exportaes desses bens num espao de tempo. Ademais, o
crescimento da indstria de microeletrnica na China tanto para exportaes, como
para atender o consumo interno abriu a possibilidade de a ndia ingressar no mer-
cado chins por meio de seu dinmico segmento de servios em [TI] (LEO, 2011).
Para Holslag (2009), a partir de 2002, as empresas indianas que conseguiram
ampliar sua participao no mercado chins estabelecendo suas marcas foram
aquelas ligadas aos setores de servios de informao e de softwares, tais como a
Wipro e a Infosays.
18. Segundo Medeiros (2006, p. 387), o entendimento do papel de duplo polo da economia chinesa sobre a econo-
mia mundial s possvel a partir da compreenso da combinao de dois efeitos da economia da China: i) o efeito
composio grau de complementaridade e rivalidade das exportaes chinesas decorrente da pauta exportadora
chinesa; ii) o efeito escala que se associa ao ritmo de crescimento do mercado chins e seus impactos sobre a acele-
rao de suas importaes. Este ltimo efeito um dos mais relevantes para explicar o aumento das exportaes de
matrias-primas e alimentos da frica e Amrica Latina para a China.
179 China e ndia no Mundo em Transio: o sistema sinocntrico e os desaos indianos
A exemplo da esfera poltica, a ascenso de China e ndia, bem como suas
relaes bilaterais, dependeram, sobremaneira, da reacomodao dos Estados
Unidos na sia e no mundo , ou seja, do seu papel desempenhado como
fnanciador e consumidor das indstrias dessa regio.
19
Entretanto, parece irrefre-
vel que haja a recentralizao do sistema produtivo na sia em detrimento do
Atlntico Norte e que este assuma a forma de um sistema regional sinocntrico.
Desse modo, a despeito da importncia dos Estados Unidos para a manuteno
desse desenvolvimento da sia, a China tem emergido com uma capacidade cada
vez maior de coordenar a economia asitica principalmente na esfera produtiva.
Partindo dessa perspectiva, observou-se at o momento que a estrutura das
relaes econmicas bilaterais sino-indianas tem sido determinada pela lgica de
expanso chinesa. Nessa lgica, a China tem demandado, via importaes, um
volume crescente de recursos naturais e ocupado espao no mercado indiano e
nos pases prximos por meio de seus produtos baratos, tanto menos elaborados
como mais sofsticados tecnologicamente. Isso pode ser observado no perfl das
relaes comerciais e de investimentos estabelecido entre as duas naes.
No plano comercial, a relao sino-indiana no sculo XXI foi caracteriza-
da por quatro elementos centrais, a saber: i) elevado aumento da corrente de
comrcio (exportaes + importaes); ii) supervits comerciais chineses com a
ndia, a partir de 2006; iii) expanso da participao de produtos de maior valor
agregado das exportaes chinesas para a ndia; e iv) aumento das exportaes de
produtos de baixo valor agregado da ndia para a China, especialmente minrio
de ferro. Essas mudanas se originaram do processo de ampliao da integrao
comercial na sia nos anos 2000, que conectaram novos fuxos centrados na im-
pressionante ascenso da China na regio. Ou seja, no plano econmico, tendo
em vista principalmente os elementos iii e iv, o crescimento da renda, bem como
a diversifcao e expanso da estrutura produtiva, chinesa ditaram o padro da
relao econmica entre os dois pases.
Enquanto entre 1962 quando houve a guerra entre os dois pases
e meados da dcada de 1990 as relaes comerciais entre China e ndia eram
insignifcantes, no perodo subsequente observou-se um crescimento consider-
vel. Se, em 1995, a corrente de comrcio (som das exportaes e importaes)
bilateral era de apenas US$ 1 bilho, no incio do sculo XXI apresentou ace-
lerada expanso, alcanando, em 2009, mesmo com a crise fnanceira global
de 2008, cerca de US$ 43 bilhes. A corrente de comrcio entre China e ndia
cresceu cerca de 37 vezes entre 1995 e 2009 (de US$ 1,2 bilho para US$ 43,2
bilhes), valor este muito acima do crescimento da corrente de comrcio mun-
dial no mesmo perodo. Essa dinmica foi fruto da expanso das exportaes e
19. Para essa discusso, ver o captulo 1 deste volume.
180 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
importaes entre China e ndia, principalmente na dcada passada. No per-
odo 2000-2009, as exportaes chinesas para a ndia cresceram cerca de 179%
em mdia anual (de US$ 1,6 bilho para US$ 29,6 bilhes) e as importaes
chinesas originadas elevaram-se em 89% em mdia anual (de US$ 1,4 bilho
para US$ 13,7 bilhes) (grfco 2).
GRFICO 2
Exportaes, importaes, saldo e corrente de comrcio da China para com a ndia
1995-2009
(Em US$ milhes)
-6.000
0
6.000
12.000
18.000
24.000
30.000
36.000
42.000
48.000
54.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Saldo Exportaes Importaes Corrente de comrcio
Fonte: Unctad (2010).
Elaborao do autor.
Alm da signifcativa elevao da corrente de comrcio do eixo sino-indiano,
outro fator caracterstico dessa relao comercial foi o supervit comercial acumu-
lado da China em relao ndia. Conforme o grfco 2, entre 2000 e 2009, a
China apresentou supervit comercial com a ndia em sete anos, proporcionando
um supervit da ordem de US$ 37,5 bilhes, dos quais boa parte foi construda
entre 2006 e 2009. Cabe ressaltar que neste perodo o supervit chins acumula-
do foi de quase US$ 40 bilhes. Portanto, o comrcio bilateral tem sido favorvel
a China no somente em razo dos supervits acumulados, mas tambm em vir-
tude do maior nvel de agregao de valor dos produtos exportados da China para
a ndia quando comparado s exportaes indianas para a China.
O terceiro elemento que caracterizou a relao comercial do eixo sino-in-
diano foi o aumento da participao de produtos de maior valor agregado das
exportaes chinesas para a ndia. A evoluo das exportaes por intensidade
tecnolgica, entre 1995 e 2009, mostra uma elevao signifcativa das exporta-
es industriais em valor (de US$ 3 bilhes, no acumulado entre 1995 e 1999,
181 China e ndia no Mundo em Transio: o sistema sinocntrico e os desaos indianos
para US$ 101,1 bilhes, no acumulado entre 2005 e 2009) e em participao
(de 66,8% em 1995-1999 para 93,2% em 2005-2009). As exportaes de produtos
industriais de mdia intensidade tecnolgica e intensivos em trabalho e recursos
naturais foram as que mais cresceram em valor e participao. Ao passo que pro-
dutos no industriais (commodities primria) exportados tiveram uma forte redu-
o na participao total (de 32,2%, em 1995-1999, para 6%, em 2005-2009),
mesmo com o aumento em seu valor (de US$ 1,5 bilho no acumulado entre
1995 e 1999, para US$ 6,5 bilhes, no acumulado entre 2005 e 2009) (tabela 1).
TABELA 1
Evoluo das exportaes chinesas para a ndia por intensidade tecnolgica 1995-2009
(Em US$ correntes)
Intensidade
1995-1999 2000-2004 2005-2009
Valor
Participao
(%)
Valor
Participao
(%)
Valor
Participao
(%)
Produtos industriais
1
3,0 66,8 12,2 79,3 101,1 93,2
Alta intensidade tecnolgica 1,2 27,4 3,9 25,5 21,4 19,7
Baixa intensidade tecnolgica 0,3 6,2 0,7 4,6 10,9 10,1
Mdia intensidade tecnolgica 1,0 22,2 3,0 19,8 36,2 33,4
Trabalho e recursos naturais 0,5 11,0 4,5 29,5 32,6 30,0
No classicados 0,0 1,1 0,1 0,8 0,9 0,8
Produtos no industriais
commodities primrias
1,5 32,2 3,1 19,9 6,5 6,0
Total 4,6 100,0 15,4 100,0 108,5 100,0
Fonte: Unctad (2010).
Elaborao do autor.
Nota:
1
Classicao extrada de Unctad (2003).
O aumento do contedo tecnolgico das exportaes chinesas para a ndia
evidenciado tambm na posio dos principais produtos exportados. Em 1995,
os principais produtos de exportao concentravam-se em medicamentos e pro-
dutos farmacuticos (8%, 1
a
posio) e composto de nitrognio (3%, 2
a
posio
fertilizantes). Em 2009, os trs principais produtos exportados foram: artigos de
vesturios (16,4%), caldeiras geradoras de vapor (4,5%) e mquinas automticas
para processamento de dados (4,1%).
20
Por fm, cabe destacar a reduo na participao das importaes chinesas
de maior valor agregado oriundas da ndia. Entre 1995 e 2009, observou-se
uma expanso signifcativa em valor das importaes industriais chinesas oriun-
das da ndia (de US$ 1,4 bilho, no acumulado entre 1995 e 1999, para US$
15,6 bilhes, no acumulado entre 2005 e 2009) que no foi sufciente para
20. A tabela 1A (anexa) traz uma descrio completa dos cinco principais produtos exportados pela China para a ndia.
182 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
aumentar a participao desse tipo de importaes; pelo contrrio, o que se
verifcou foi a reduo da participao das importaes industriais (de 36,3%,
em 1995-1999, para 22,6%, em 2005-2009), em especial as importaes in-
dustriais intensivas em trabalho e recursos naturais (de 22,9%, em 1995-1999,
para 6,4%, em 2005-2009). A contrapartida disto foi que as importaes de
produtos no industriais (commodities primrias), no mesmo perodo, cresce-
ram tanto em termos de valor (de US$ 2,3 bilhes, no acumulado entre 1995 e
1999, para US$ 52,4 bilhes, no acumulado entre 2005 e 2009) como em par-
ticipao (de 61,5%, em 1990-1994, para 76%, em 2005-2009) (tabela 2).
21
TABELA 2
Evoluo das importaes chinesas oriundas da ndia por intensidade tecnolgica
1995-2009
(Em US$ correntes)
Intensidade
1995-1999 2000-2004 2005-2009
Valor
Participao
(%)
Valor
Participao
(%)
Valor
Participao
(%)
Produtos industriais
1
1,4 36,3 7,6 43,7 15,6 22,6
Alta intensidade tecnolgica 0,2 4,7 1,5 8,7 3,8 5,5
Baixa intensidade tecnolgica 0,1 3,7 2,1 11,9 2,4 3,5
Mdia intensidade tecnolgica 0,2 5,3 1,9 10,8 5,0 7,3
Trabalho e recursos naturais 0,9 22,6 2,1 12,3 4,4 6,4
No classicados 0,1 2,2 0,4 2,1 0,9 1,3
Produtos no industriais
commodities primrias
2,3 61,5 9,4 54,2 52,4 76,0
Total 3,8 100,0 17,4 100,0 68,9 100,0
Fonte: Unctad (2010).
Elaborao do autor.
Nota:
1
Classicao extrada de Unctad (2003).
A reduo na participao do contedo tecnolgico das importaes chinesas
oriunda da ndia tambm observada da posio dos principais produtos importados.
Em 1995, os principais produtos importados concentravam-se em minrio de ferro
(21,6%, 1
a
posio) e minrios e concentrados de metais bsicos (16,7%, 2
a
posio).
Em 2009, os dois principais produtos importados foram: minrio de ferro (55,7%) e
prolas e pedras preciosas (3,5%). Vale destacar o elevado crescimento da participao do
minrio de ferro entre 1995 e 2009, que signifcou tambm um impressionante aumento
de mais de 88 vezes em termos de valor saiu de US$ 86 milhes para US$ 7,6 bilhes.
22
21. Apesar do rpido crescimento das importaes chinesas em commodities, as exportaes da China para a ndia de
produtos industriais, principalmente os de mdia e alta tecnologia, zeram que o resultado do saldo comercial bilateral
fosse favorvel China. Ver grco 1A (anexo).
22. A tabela 2A (anexa) traz uma descrio completa dos cinco principais produtos importados pela China para a ndia.
183 China e ndia no Mundo em Transio: o sistema sinocntrico e os desaos indianos
Alm do comrcio, os investimentos entre ndia e China tambm tm se
intensifcado como consequncia da poltica indiana chamada de Olhe para o
Leste (Look East Policy). Isto , a diplomacia indiana tem percebido o dina-
mismo da integrao asitica como uma oportunidade crucial para a insero do
pas na economia mundial. Por isso, para o governo indiano, a entrada de em-
presas chinesas poderia signifcar a possibilidade de o pas ingressar no circuito
asitico de comrcio e investimentos. No caso da China, a internacionalizao
de suas empresas para o mercado indiano ganhou sentido, em primeiro lugar,
por se tratar de um lugar politicamente estratgico como observado na seo
3.1. Nesse sentido, por exemplo, para Babics (2009) o fato de quase 75% dos
investimentos chineses na ndia terem sido realizados parcial ou integralmente
por empresas estatais refetiu uma forma de o governo chins controlar a ao
das empresas do pas no mercado indiano. Em segundo, esses investimentos bus-
cam, por um lado, garantir o acesso a recursos naturais e, por outro, competir no
mercado de bens mais intensivos em trabalho indiano. Em razo disso, os fuxos
de IDE para a China tem se multiplicado.
Como sugere o grfco 3, os fuxos de IDE da China para ndia comearam
a crescer na segunda metade dos anos 2000, antes de presenciarem um boom em
2008. Entre 2003 e 2007, o volume de IDE chins que era de apenas US$ 150
mil alcanou, no ltimo ano, US$ 22 milhes. Todavia, no ano seguinte (2008),
esse valor aumento quase cinco vezes e o volume total de IDE foi da ordem de
US$ 101,9 milhes.
GRFICO 3
Fluxos de IDE chins para a ndia 2003-2009
(Em US$ milhes)
-25
0
25
50
75
100
125
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fonte: Ministry of Commerce of China.
Elaborao do autor.
184 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
Esse resultado foi produto, principalmente, de um conjunto de investimen-
tos realizado por vrias empresas chinesas no setor de infraestrutura, basicamente
de transporte (rodovias e ferrovias).
23
Possivelmente, a preocupao chinesa foi de
melhorar as condies de transporte dos produtos importados pela ndia com
destaque para o minrio de ferro.
4 CHINA E NDIA NA TRANSIO SISTMICA
A transio sistmica tem fornecido alguns indcios relevantes na virada do sculo
XX-XXI. De forma geral, combinaram-se os seguintes processos: i) de perda de
vantagens produtivas e comerciais do centro do sistema mundial (Estados Uni-
dos/Unio Europeia) e o deslocamento para outras regies (sia/Pacfco); ii) de
expanso competitiva e crescente rivalidade interestatal e interempresarial; iii) de
surgimento de novas confguraes de poder, com destaque para grandes pases
emergentes (China, ndia e Brasil); iv) e de reorganizao das capacidades sist-
micas (ARRIGHI; SILVER, 2001). Como foge ao escopo deste trabalho abordar
todos os aspectos relacionando China/ndia e transio sistmica, trs aspectos
assumiram maior importncia: i) a ascenso de China e de ndia no quadro dos
pases emergentes; ii) o papel destes pases na integrao asitica, com uma prov-
vel recentralizao produtiva da economia mundial deslocando-a do Atlntico
Norte; e iii) o efeito das relaes sino-indianas no reposicionamento dos Estados
Unidos na nova ordem mundial.
Por isso, o primeiro aspecto refere-se s novas confguraes de poder
resultantes da ascenso dos emergentes, notadamente China e ndia. Pode-se
considerar que estes so pases que possuem especifcidades no peso geopol-
tico mundial, no grau de integrao economia mundial, nas caractersticas
histrico-culturais e na dinmica poltico-institucional, mas ambos tm os atri-
butos essenciais de pases emergentes, tais como: recursos de poder em expanso
(comercial, fnanceiro, diplomtico, militar), capacidade de contribuir para a
gesto do sistema internacional e ambio e reconhecimento para ocupar um
papel mais infuente na poltica mundial (HURRELL, 2009). Logo, o resultado
da trajetria de desenvolvimento prpria destes pases central reorganizao
sistmica, pois afeta o mercado internacional e a estabilidade regional. De um
lado, estes pases tm cerca de 40% da populao mundial e 1,4 bilho de cam-
poneses, que dado o crescimento da renda e a urbanizao tender, no mdio
prazo, a fortalecer o mercado interno destes pases e, por sua vez, ampliar dras-
ticamente o peso destas economias no mercado internacional. Alis, ambos tm
sido determinantes na importao de recursos naturais, como energia, minrios
23. Para descrio desses investimentos, ver reportagem do The Economic Times no endereo eletrnico: <http://articles.
economictimes.indiatimes.com/2010-09-24/news/27596253_1_highway-projects-highway-sector-chinese-companies>.
185 China e ndia no Mundo em Transio: o sistema sinocntrico e os desaos indianos
e alimentos, infuenciando, progressivamente, o preo das commodities. No caso
da ndia, a dependncia externa cresceu de 41% da demanda nacional de 1,2
milho de barris por dia (mb/d), em 1990, para 74% dos cerca de 2,9 mb/d, em
2008. J a China, deixou de ser exportadora, com excedente de 460 mb/d de um
total produzido de 2,7 mb/d, em 1990, para tornar-se dependente de 53% dos
8 mb/d consumidos em 2008 (BP, 2009).
24
De outro, o desenvolvimento nacional, a estabilidade poltica e a projeo
internacional desses pases so condicionados pelo fortalecimento de suas capa-
cidades estatais e, por sua vez, de realizao dessa contraditria modernizao
econmica e institucional, bem como dos desafos de ocupar um lugar no cenrio
internacional. Alm de ter avanado mais rapidamente nos indicadores sociais
e econmicos, a China tambm est mais bem estruturada no que se refere ao
aparelho estatal, devido ao tamanho do oramento, capacidade de investimento
pblico, aos meios para planejar o desenvolvimento etc. De qualquer forma, o
desenvolvimento e a integrao desses pases economia mundial tende a pro-
porcionar transformaes sem precedentes que ultrapassam os limites nacionais.
A anlise de alguns indicadores socioeconmicos tambm aponta para uma situa-
o e um progresso mais acelerado no caso da experincia chinesa.
TABELA 3
Indicadores socioeconmicos comparados China e ndia, 2009
China ndia
Taxa de analfabetismo (%) 7 37
PIB per capita (dlar de 2000) 2.206 766
Taxa de mortalidade infantil (a cada mil nascimentos) 16,6 50,3
Expectativa de vida (por idade) 73,3 64,1
Mortalidade por tuberculose (a cada 100 mil pessoas) 12 23
Fonte: World Development Indicators & Global Development Finance; Health Nutrituon and Population Statistics/Banco Mundial.
Elaborao do autor.
O segundo refere-se ao papel de China e ndia como varivel-chave da din-
mica de integrao asitica e, por sua vez, de reorganizao do sistema internacio-
nal. No somente pela crescente infuncia de China e ndia, mas pela retomada
do protagonismo da Rssia e pelo dinamismo dos pases do Sudeste Asitico.
Inclusive os antigos aliados dos Estados Unidos, como Taiwan, Coreia do Sul
e Japo, voltam-se para a integrao regional em grande parte. Isto se deve ao
crescente poder gravitacional da economia chinesa e rede de negcios formada
24. A presena de China e ndia na frica so reveladoras tanto do imperativo de segurana energtica, quanto da
crescente projeo internacional destes pases (PAUTASSO, 2009a, 2010).
186 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
a partir dos chineses da dispora, conformando uma espcie de esfera de copros-
peridade da grande China (KHANA, 2008), que se estende do Japo Mianmar
e, progressivamente, para a sia Central.
Nesse sentido, o pas oriental tem conseguido utilizar sua crescente capaci-
dade econmica (fnanceira e comercial) como instrumento de universalizao de
sua poltica externa, de modo que o desenvolvimento nacional e a insero inter-
nacional se fortalecem mutuamente (PAUTASSO, 2009b). Conforme destacamos
(PAUTASSO, 2010, p. 12-13), a China se benefciou da eliminao do confito si-
no-sovitico e dos padres de rivalidade que predominaram durante a Guerra Fria.
Dessa forma, foi se sobressaindo a liderana chinesa sobre a integrao regional
nos mbitos institucional (OCS, Asean+3) e econmico (comrcio, investimen-
tos, crditos etc.), deslocando progressivamente o Japo e os Estados Unidos da
liderana asitica, ao passo que outra potncia, a URSS, desintegrava-se. Por isso,
() o reordenamento mundial depende fundamentalmente da transio pela qual
passa a China e pela sua capacidade de liderar a recriao do sistema regional sino-
cntrico, contribuindo para a consolidao de alternativas s contradies herdadas
pelo ciclo de domnio anglo-saxo. (PAUTASSO, 2011, p. 13).
Por fm, foi preciso considerar o padro de cooperao e rivalidade nas re-
laes sino-indianas a partir da presena dos Estados Unidos. No caso da ndia,
a poltica externa no parece disposta a subordinar-se aos interesses dos norte-
-americanos na sia, sobretudo como piv da conteno da China na regio.
Ao contrrio, as posies da diplomacia indiana tm combinado a explorao
das vantagens polticas diante das ambies dos Estados Unidos na sia, ao
mesmo tempo que compreende a necessidade do desenvolvimento de relaes
estveis com a China. Para a ndia, os Estados Unidos so cruciais ao preenchi-
mento do vcuo deixado pelo colapso da URSS, legitimao do processo de
nuclearizao e, portanto, ampliao da autonomia e da margem de manobra
do pas no sistema internacional. Portanto, a ndia estabeleceu um relaciona-
mento com os Estados Unidos/Ocidente a partir de uma poltica que mescla
um engajamento positivo, a busca por autonomia e uma estratgia defensiva.
E, nesse sentido, pareceu pouco provvel que a ndia aceitasse um alinha-
mento automtico, ou mesmo preferencial, com os Estados Unidos, conforme
analistas sugerem (ZAKARIA, 2008). Ao contrrio, as relaes com os Esta-
dos Unidos visaram ao fortalecimento da autonomia da poltica externa indiana
a partir de um multialinhamento. Alis, a autonomia da diplomacia indiana
manifestou-se no no apoio invaso do Iraque, na importao de gs natural
de inimigos dos Estados Unidos (Mianmar e Ir), na cooperao em projetos
energticos com a China na frica, na realizao de manobras militares por parte
das foras armadas sino-indianas, na oposio a sanes ao Ir, na resistncia
187 China e ndia no Mundo em Transio: o sistema sinocntrico e os desaos indianos
presena militar na sia Central, no grupo BRIC, entre outros (OLIVEIRA,
2009; OLIVEIRA, 2008). No caso da China, as aes diplomticas esto vol-
tadas preservao da estabilidade internacional e, ao mesmo tempo, reforma
do sistema internacional. Isto , a China defende o status quo visando acumular
foras e garantir certa segurana (hedging), ao mesmo tempo que buscou uma
acomodao nova realidade internacional (FOOT, 2009). Por isso, as relaes
com os Estados Unidos so fortalecidas em compasso com uma participao
mais atuante em organismos multilaterais (ONU, Organizao Mundial do Co-
mrcio OMC, OCS etc.).
Em suma, o fm da bipolaridade lanou o desafo de os Estados Unidos
reconstrurem a legitimidade construda durante a Guerra Fria. Apesar de possu-
rem instrumentos de poder abrangentes e efcazes, os Estados Unidos tm enfren-
tado difculdades para preservar e/ou reestabelecer sua supremacia. O sintoma da
mudana em curso foi que o predomnio norte-americano sobre os organismos
internacionais e fnanceirizao da economia liderada por eles tem sido conco-
mitante ao recuo do universalismo, assim como hipertrofa do recurso fora.
A consequncia tem sido a difculdade de preservao de equilbrios de poder
regionais, o recorrente unilateralismo e o tensionamento mesmo no mbito dos
poderes ocidentais, ao mesmo tempo em que recrudesceram a concorrncia dian-
te do crescente peso dos pases emergentes (China e ndia) e se tornaram insuf-
cientes e/ou inefcazes os arranjos institucionais do ps-guerra.
5 CONSIDERAES FINAIS
Tanto ndia quanto China compartilham enormes desafos ligados, de um lado,
ao desenvolvimento, em razo da baixa renda per capita, carncia de servios e
tamanho da populao rural, por exemplo e, de outro, formao do Estado
moderno, no que se refere ao aparelho estatal (instituies), identidade nacional
e integrao econmico-territorial. Apesar dos desafos, a insero internacional
e o processo de desenvolvimento de China e ndia so cruciais compreenso da
dinmica de reorganizao do poder mundial.
ntido que esses pases emergentes se projetam em escala global a partir
de uma combinao de reafrmao do status quo, ao se apoiarem nas prprias
instituies multilareais (Fundo Monetrio Internacional FMI, OMC), e de
construo de alternativas, ao desenvolverem espaos desvinculados do ncleo
do poder ocidental. Nesse sentido, o sistema internacional oscila entre a busca
de reforma deste arranjo institucional, para adequar-se emergente confgurao
de poder e preservar sua legitimidade e efccia, ou alternativa do descompasso
com a histria e a poltica internacional, refetindo na sua inoperncia e, como
consequncia, em crises polticas e/ou escaladas de violncia. Isso se deve, em
188 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
parte, porque os Estados Unidos perderam o contraponto funcional sua hege-
monia a URSS e encontram difculdades em reconstruir uma agenda capaz
de criar uma nova coeso. Ao contrrio, a agenda do neoliberalismo ou mesmo
a guerra ao terrorismo/ataque preventivo ou tiveram uma durao efmera ou
aceleraram movimentos anti-hegemnicos, seja na forma da criao de novas
articulaes e competies interestatais, seja na forma do fortalecimento de mo-
vimentos sociais de resistncia guerra ou s reformas impopulares. Assim, a ge-
ografa do poder mundial tem tornado-se progressivamente multipolar, de modo
que o mundo contemporneo torna-se mais complexo do que as estruturas hege-
mnicas de poder criadas e coordenadas pelos Estados Unidos, em grande parte
devido aos efeitos produzidos pela ascenso dos gigantes da sia, China e ndia.
Alm do relacionamento bilateral, as relaes sino-indianas afetam: i) os
alinhamentos diplomticos regionais e globais; ii) a velocidade e forma da tran-
sio sistmica em curso; iii) o declnio relativo ou a acomodao dos Estados
Unidos no novo sistema internacional; iv) a construo de um eventual arranjo
institucional condizente com a nova confgurao de poder emergente; v) a esta-
bilidade e o desenvolvimento da sia, que a regio mais populosa do mundo; e
vi) a conformao de uma nova geografa econmica, pois, afnal de contas, estes
pases tm/tero peso crescente nos fuxos comerciais e de investimentos. Trata-se,
pois, de um assunto a ser acompanhado de perto.
REFERNCIAS
ACIOLY, L. China: uma insero externa diferenciada. Economia Poltica
Internacional: anlise estratgica, Campinas, IE/UNICAMP, n. 5, p. 24-31,
out./dez. 2005.
ALMEIDA FILHO, J. O Frum de Dilogo ndia, Brasil e frica do Sul
(Ibas): anlise e perspectivas. Braslia: Fundao Alexandre Gusmo, 2009.
ARRIGHI, G.; SILVER, B. Caos e governabilidade no moderno sistema mun-
dial. Rio de Janeiro: Contraponto, Editora UFRJ, 2001.
BABICS, J. Chinas Direct Investment in India and Vietnam. Londres, Apr.
2009. Disponvel em: <http://pt.scribd.com/doc/51260883/China-s-Direct-
-Investment-in-India-and-Vietnam>.
BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY. Jun. 2009.
BRAUDEL, F. O Extremo Oriente. In: Gramtica das civilizaes. So Paulo:
Martins Fontes, 1989.
BUZAN, B.; WAEVER, O. Regions and Powers: the structure of international
security. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
189 China e ndia no Mundo em Transio: o sistema sinocntrico e os desaos indianos
CHANG, H. Chutando a escada. So Paulo: UNESP, 2004.
FOOT, R. Estratgias chinesas em uma ordem mundial global hegemnica: aco-
modao e hedging. In: HURRELL, A. et al. Os BRICs e a ordem global. Rio
de Janeiro: FGV Editora, 2009. p. 125-152.
GUIMARES, L. ndia: questes de poltica externa. In: OLIVEIRA, H. (Org.).
China e ndia na Amrica Latina. Curitiba: Juru, 2010. p. 69-96.
HOBSBAWM, E. Era dos extremos. Companhia das Letras: So Paulo, 1994.
HOLSLAG, J. Progress, perceptions and peace in the sino-indian relationship.
East Asia, v. 26, p. 41-56, 2009.
HURRELL, A. Hegemonia, liberalismo e ordem global: qual o espao para
potncias emergentes? In: HURRELL, A. et al. Os BRICs e a ordem global. Rio
de Janeiro: FGV Editora, 2009, p. 9-41.
KENNEDY, P. Ascenso e queda das grandes potncias. Rio de Janeiro:
Campus, 1989.
KHANA, P. O segundo mundo: imprios e infuncia na nova ordem global. Rio
de Janeiro: Intrnseca, 2008.
KISSINGER, H. Diplomacia. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1997.
. EUA precisam abandonar poltica de ameaas. O Estado de S.Paulo,
p. 2, 25 jun. 1998.
LEO, R. P. F. O padro de acumulao e o desenvolvimento econmico da
China nas ltimas trs dcadas: uma interpretao. 2010. Dissertao (Mestra-
do) Instituto de Economia, Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP,
Campinas, 2010.
. A expanso da China e da ndia na sia: quais os efeitos para a cadeia
produtiva regional? Rio de Janeiro, 2011. Mimeografado.
LOSURDO, D. Fuga da histria? Rio de Janeiro: Revan, 2004.
MARTI, M. A China de Deng Xiaoping. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2007.
MEDEIROS, C. A. Globalizao e insero internacional diferenciada da sia e
da Amrica Latina. In: TAVARES, M.; FIORI, L. (Org.). Poder e dinheiro: uma
economia poltica da globalizao. Petrpolis: Vozes, 1997. p. 279-346.
. China: entre os sculos XX e XXI. In: FIORI, J. L. (Org.). Estados e
moedas no desenvolvimento das naes. Petrpolis: Vozes, 1999.
190 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
. A China como um duplo plo na economia mundial e a recentraliza-
o da economia asitica. Revista de Economia Poltica, So Paulo, v. 26, n. 3,
p. 577-594, jul./set. 2006.
. Desenvolvimento econmico e ascenso nacional: rupturas e transi-
es na Rssia e na China. In: FIORI, J. L.; MEDEIROS, C. A; SERRANO, F.
(Org.). O mito do colapso do poder americano. Rio de Janeiro: Record, 2008.
MEDEIROS, E. Chinas international behavior. Pittsburgh: RAND
Corporation, 2009.
NARLIKAR, A. Patriotismo peculiar ou clculo estratgico? In: HURRELL, A. et al.
Os BRICs e a ordem global. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2009. p. 101-124.
NASSIF, A. A economia indiana no perodo 1950-2004: da estagnao ao cres-
cimento acelerado lies para o Brasil? Rio de Janeiro: BNDES, 2006 (Texto
para Discusso, n. 107).
NOLAN, P. China at the crossroads. Cambridge: Polity Press, 2004.
OLIVEIRA, C. A. B. Desenvolvimento econmico comparado: Amrica Latina
e sia. In: DEDDECA, C. S.; PRONI, M. W. (Org.). Economia e proteo
social: textos para estudo dirigido. Campinas: IE/UNICAMP; Braslia: MTE;
So Paulo, Unitrabalho, 2006.
OLIVEIRA, A. China, ndia e Japo no mundo que vem a. In: MOSCARDO,
J.; CARDIM, C. (Org.). III Conferncia Nacional de Poltica Externa e Poltica
Internacional. Braslia: Fundao Alexandre Gusmo, 2009. p. 227-244.
OLIVEIRA, H. China e ndia. In: MOSCARDO, J.; CARDIM, C. (Org.).
II Conferncia Nacional de Poltica Externa e Poltica Internacional. Braslia:
Fundao Alexandre Gusmo, 2008. p. 265-294.
PAUTASSO, D. A China na transio do sistema mundial: suas relaes com
EUA e ndia. 2006. Dissertao (Mestrado) Universidade Federal do Rio Gran-
de do Sul, UFRGS, Porto Alegre, 2006.
______. A poltica externa chinesa e a 4
a
Conferncia do Frum de Cooperao
China-frica-2009. Meridiano 47, Braslia, UnB, v. 112, p. 18-20, 2009a.
. O comrcio exterior na universalizao da Poltica Externa Chinesa no
sculo XXI. Meridiano 47, Braslia, UnB, v. 113, p. 14-16, 2009b.
______. A frica no comrcio internacional do grupo BRIC. Meridiano 47,
Braslia, UnB, v. 120, 2010.
. China, Rssia e a integrao asitica: o sistema sinocntrico como
parte da transio sistmica. Conjuntura Austral, v. 1, p. 1-16, 2011.
191 China e ndia no Mundo em Transio: o sistema sinocntrico e os desaos indianos
PIMENTEL, J. ndia. In: MOSCARDO, J.; CARDIM, C. (Org.). I Confern-
cia Nacional de Poltica Externa e Poltica Internacional. Braslia: FUNAG,
2007. p. 375-413.
PINTO, P. A China e o Sudeste Asitico. Porto Alegre: UFRGS, 2000.
SHAMBAUGH, D. Growing strong: Chinas challenge to Asian security. Survi-
val, v. 36, n. 2, p. 43-59, Summer 1994.
SIDHU, W.; YUAN, J. China and India: cooperation or confict? New Delhi:
India Research Press, 2003.
COMISSO DAS NAES UNIDAS SOBRE COMRCIO E DESENVOL-
VIMENTO (UNCTAD). World Development Report, 2003.
. Handbook of Statistics, 2010.
VIZENTINI, P. Geopoltica e confitos contemporneos. Porto Alegre: Leitura
XXI, 2004. v. 2.
ZAKARIA, F. O mundo ps-americano. So Paulo: Companhia das Letras, 2008.
SITE
<http://articles.economictimes.indiatimes.com/2010-09-24/news/27596253_1_
highway-projects-highway-sector-chinese-companies>.
192 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
ANEXOS
TABELA 1A
Principais produtos exportados pela China para a ndia 1995-2009
(Em US$ milhes)
Produtos
1995-1999 2000-2004 2005-2009
Valor
Participao
(%)
Valor
Participao
(%)
Valor
Participao
(%)
Artigos de vesturio e de fbrica txtil 99 2,2 1.757 11,4 16.677 15,4
Caldeiras geradoras de vapor 2 0,0 34 0,2 2.748 2,5
Mquinas automticas para processamento
de dados
37 0,8 379 2,5 4.728 4,4
Produtos medicinais e farmacuticos 318 7,0 945 6,1 3.663 3,4
Carrinhos de beb, brinquedos, jogos e artigos
esportivos
62 1,4 327 2,1 3.042 2,8
Total 4.563 100,0 15.404 100,0 108.485 100,0
Fonte: Unctad (2010).
Elaborao do autor.
TABELA 2A
Principais produtos importados pela China oriundos da ndia 1995-2009
(Em US$ milhes)
Produtos
1995-1999 2000-2004 2005-2009
Valor
Participao
(%)
Valor
Participao
(%)
Valor
Participao
(%)
Minrio de ferro 811 21,4 6.582 37,8 38.901 56,4
Prolas e pedras preciosas 99 2,6 634 3,6 1.844 2,7
Algodo 69 1,8 78 0,4 3.224 4,7
Cobre 2 0,0 151 0,9 1.787 2,6
Ferro-gusa e ferro-esponja 15 0,4 40 0,2 901 1,3
Total 3.793 100,0 17.424 100,0 68.934 100,0
Fonte: Unctad (2010).
Elaborao do autor.
193 China e ndia no Mundo em Transio: o sistema sinocntrico e os desaos indianos
GRFICO 1A
Saldo comercial chins com a ndia, por intensidade tecnolgica 1995-2009
(Em US$ milhes)
-16.000
-13.000
-10.000
-7.000
-4.000
-1.000
2.000
5.000
8.000
11.000
1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Commodities e petrleo e outros insumos energticos Intensivos em trabalho e recursos naturais
Baixa intensidade Mdia intensidade
Alta intensidade No classicados
Fonte: Unctad (2010).
Elaborao do autor.
CAPTULO 5
A ASCENSO CHINESA E A NOVA GEOPOLTICA E GEOECONOMIA
DAS RELAES SINO-RUSSAS
William Vella Nozaki
*
Rodrigo Pimentel Ferreira Leo
**
Aline Regina Alves Martins
***
1 INTRODUO
A compreenso dos acontecimentos mais relevantes da passagem do sculo XX ao
XXI passa, necessariamente, por uma refexo acerca do colapso da Unio das Re-
pblicas Socialistas Soviticas (URSS) e pela ascenso da China. A relao entre
esses dois pases protagonistas, respectivamente, da Guerra Fria e do ps-Guerra
Fria assim como suas conexes com o sistema internacional e com a hegemonia
americana so elementos fundamentais das transformaes estruturais recentes.
Nas ltimas dcadas, a desestruturao da antiga URSS deu origem a uma
Rssia menor em superfcie e populao do que aquela que o sculo XIX conhe-
ceu, transformada em uma nao dependente da exportao de commodities em
maior escala do que nos ltimos anos do czarismo. A desintegrao do Estado
russo na dcada de 1990 e a desestruturao de sua economia dominada por gru-
pos privados foram substitudas na presente dcada pela reafrmao de um proje-
to de desenvolvimento nacional, engendrando uma ruptura com o passado liberal
imediato, mas patrocinando um reencontro com a histria russa de busca pela au-
tonomia nacional (MEDEIROS, 2008). Os acontecimentos do ps-Guerra Fria
e da dcada atual parecem trazer a Rssia de volta ao cenrio regional e global,
como importante player em controvrsias estratgicas importantes relacionadas
aos mercados de commodities, petrleo e gs e armas (FIORI, 2008).
Por outro lado, a ascenso econmica da China tem afetado de diversas formas
os rumos das relaes econmicas e polticas internacionais. Esse pas exerce um pa-
pel decisivo na redefnio da ordem geopoltica e geoeconmica do ps-Guerra Fria.
*
Doutorando em Desenvolvimento Econmico pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP) e Pesquisador-bolsista do Programa de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional (PNPD) da Diretoria de
Estudos e Relaes Econmicas e Polticas Internacionais (Dinte) do Ipea.
**
Mestre em Desenvolvimento Econmico pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP) e Pesquisador-bolsista do PNPD da Dinte/Ipea.
***
Doutoranda em Cincia Poltica pela UNICAMP e pesquisadora-bolsista do PNPD da Dinte/Ipea.
196 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
Por um lado, a aproximao chinesa com os Estados Unidos, desde os anos 1970, foi
determinante para a desestabilizao da URSS (FIORI, 1997). Por outro lado, a execu-
o de um projeto nacional de desenvolvimento permitiu China iniciar, j entre 1990
e 2000, seu processo de insero no centro do sistema capitalista, o que alterou sua
posio em relao aos prprios Estados Unidos (CARDOSO DE MELLO, 1997).
Diante disso, este captulo busca explicitar as complementaridades e con-
tradies por trs da recente aproximao entre China e Rssia, considerando as
desconfanas histricas que prevaleceram na relao entre esses dois pases, mas,
sobretudo, avaliando a reaproximao de ambos aps a consolidao da economia
chinesa posterior aos anos 1980 e a reestruturao do Estado russo nos anos
2000. Alm da importncia inerente desses dois pases no cenrio internacional
da passagem do sculo XX ao XXI, a relao entre ambos tem se tornado de ex-
trema relevncia dado que as transformaes geopolticas e geoeconmicas atuais
no podem ser devidamente compreendidas sem que se leve em considerao os
impasses intraeuropeus e a ascenso asitica. Nesse sentido, um ponto de contato
privilegiado para as observaes dessas questes situa-se na fronteira eurasitica
compartilhada pelos maiores players globais da regio: China e Rssia.
Alm disso, importante considerar que as decises estratgicas desses dois
pases tm sido tomadas em funo: i) da busca pela afrmao nacional na regio
eurasitica; ii) das movimentaes de aproximao e de afastamento entre China e
Estados Unidos, e entre Rssia e Estados Unidos; e iii) das estratgias ativas e rea-
tivas com relao a interesses vinculados s questes territorial, militar e energtica.
A fm de contemplar esses pontos, o captulo se divide em cinco sees in-
cluindo esta introduo. Na seo 2 apresentam-se as relaes sino-russas, a partir
de um breve retrospecto histrico, at os anos 1970. Na seo 3 analisam-se a pro-
gressiva aproximao entre os dois pases no contexto de retomada da hegemonia
norte-americana ps-anos 1970. Na seo 4 analisam-se a geopoltica da coope-
rao militar e a geoeconomia da segurana energtica, indicando-se as tenses e
complementaridades por trs dessas questes que tm servido como mote para as
relaes atuais entre China e Rssia. Por fm, na seo 5 apresentam-se algumas
concluses acerca das difculdades e da importncia das relaes sino-russas para
o futuro do sistema econmico e interestatal moderno nesse incio de sculo XXI.
2 A TRAJETRIA DAS RELAES INTERNACIONAIS ENTRE CHINA E RSSIA
AT OS ANOS 1970
Do ponto de vista histrico, a relao de convergncias e confitos entre China
e Rssia foi caracterizada, em primeira instncia, pelos dois projetos de de-
senvolvimento socialista e de transio capitalista desses pases e, em ltima
instncia, pelas decises econmicas e polticas norte-americana. Com o fm
197 A Ascenso Chinesa e a Nova Geopoltica e Geoeconomia das Relaes Sino-Russas
da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) a bipolarizao do sistema inter-
nacional tornou-se inevitvel; foi nesse cenrio de convivncia entre projetos
econmicos e poderes polticos antagnicos que se desenvolveram as relaes
entre China, URSS e Estados Unidos.
Durante a Guerra Fria (1945-1991), a URSS e os Estados Unidos lideraram
os dois blocos antagnicos (socialista e capitalista) que conduziram as principais
decises polticas e econmicas tomadas nesse perodo, destacando-se a expanso
territorial e blica, a fm de conter o avano de seus adversrios e manter reas de
infuncia. Nesse contexto, a China socialista adquiriu grande importncia, tendo
em vista sua posio geogrfca na sia e sua capacidade de atuar decisivamente
nos rumos da Guerra Fria. Nesse sentido, o magnetismo internacional entre China
e Rssia dependeu da interao entre seus projetos de desenvolvimento nacional
e da atrao ou repulso patrocinada pelos Estados Unidos entre os dois pases.
Entre o fm da dcada de 1940 e meados da dcada de 1960, enquanto
China e URSS comungaram as mesmas diretrizes gerais do projeto socialista,
suas economias se fortaleceram mutuamente e se afastaram da infuncia norte-
-americana. Aps o estabelecimento da Repblica Popular da China, em 1949, a
poltica externa chinesa focou-se na solidariedade com a URSS e outros pases so-
cialistas. O lder do Partido Comunista Chins (PCC) de ento, Mao Ts-Tung,
1
proclamou sua poltica lean to one side, que representava o comprometimento
chins com o bloco sovitico. Havia uma relao de aliados naturais entre os
governos de Mao e do lder sovitico Josef Stalin, j que a URSS era a referncia
do movimento socialista internacionalmente. Tanto era favorvel para a China
manter uma relao amigvel com o lder do mundo socialista, como era de in-
teresse da URSS apoiar a ascenso de um partido comunista contribuindo para a
expanso de seu sistema poltico. Em 1950, os dois pases assinaram o Tratado de
Amizade, Aliana e Cooperao Mtua.
Do ponto de vista econmico, durante a revoluo comunista, a China
caracterizava-se pela extensa populao, pelo baixo grau de desenvolvimento das
foras produtivas e pela ausncia de novas terras para o avano da fronteira agr-
cola; o descompasso entre o crescimento populacional e a carncia de alimentos
deveria ser um dos principais problemas enfrentados pelas novas foras sociopol-
ticas que ascendiam. Nesse cenrio, ao longo da dcada de 1950, os emprstimos
e incentivos concedidos pela URSS eram fundamentais para o desenvolvimento
do setor industrial chins, assim como o fornecimento de recursos alimentcios.
Ou seja, a relao com a URSS era imprescindvel para a importao de bens de
1. Mao Tse-Tung foi presidente da Comisso Militar Central da China (1935-1976) e do PCC (1943-1976), entre outras
funes. Foi quem liderou os principais movimentos da China antes das Quatro Modernizaes, como o Grande Salto
Adiante (1958-1960) e a Revoluo Cultural (1966-1976).
198 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
capital e de insumos agrcolas. Alm disso, imediatamente aps a revoluo, o
governo de Mao carecia de legitimidade e enfrentava dvidas com relao con-
duo da poltica econmica. No obstante a aproximao entre URSS e China,
os dois pases apresentavam uma relao contraditria.
Por um lado, a China mostrou-se um pas demasiadamente dependente em
termos fnanceiros e tecnolgicos dos soviticos. Essa dependncia tornou-se ain-
da maior quando os chineses entraram na Guerra da Coreia (1950-1953) apoian-
do a Coreia do Norte. Em consequncia desse apoio, a China comeou a sofrer
retaliaes dos aliados da Coreia do Sul, entre os quais se encontravam os Estados
Unidos e o Reino Unido.
2
Assim, os investimentos necessrios para a moderniza-
o de sua estrutura de produo e de guerra foram originados em grande parte
da URSS, exemplo disso foram os vrios acordos de intercmbio tcnico selados
entre as duas naes na segunda metade dos anos 1950, inclusive a assistncia
produo de bombas nucleares. A capacidade de modernizao do setor militar
chins esteve ligada aos acordos estabelecidos entre as duas naes socialistas.
Cerca de 10 mil especialistas soviticos auxiliaram o desenvolvimento industrial
chins (FAIRBANK; GOLDMAN, 2006). As importaes e tecnologias soviti-
cas representaram nos anos 1950 mais de um quarto de todo o investimento em
mquinas do pas asitico (LEO, 2010).
Por outro lado, se a relao entre Stalin e Mao j era marcada por contradies
incipientes, nos anos 1960 as hostilidades polticas e ideolgicas entre os dois pases
se intensifcaram.
3
Com a entrada de Nikita Khrushchev em 1958, as relaes entre
URSS e China comearam a se deteriorar rapidamente. Divergncias acerca do
modelo de expanso do projeto comunista e da poltica externa do bloco revolucio-
nrio acirraram ainda mais as tenses entre os dois pases. Enquanto Khrushchev
defendia a poltica de coexistncia pacfca com o Ocidente, Mao enxergava nas for-
as capitalistas uma permanente ameaa. Tal contrariedade justifcou a recusa sovi-
tica em repassar conhecimentos e tecnologia blica para os chineses. O resultado foi
o aumento no estrangulamento da economia chinesa e o progressivo afastamento
entre os dois pases comunistas.
No campo econmico, a China se viu cada vez mais impossibilitada de de-
senvolver sua indstria e suas tecnologias. O setor tecnolgico chins, por exem-
plo, obedecia lgica do planejamento central inspirado no sistema sovitico.
A estrutura tecnolgica estava altamente concentrada e dependente dos esforos
2. Mesmo depois da Guerra da Coreia, o isolamento da China em relao ao mundo capitalista permaneceu.
Os Estados Unidos, por exemplo, romperam todas as relaes exteriores com os chineses na segunda metade
dos anos 1950, perdurando at 1971.
3. Divergncias no que concerne ideologia comunista comeavam a ganhar corpo. Em 1949, o lder sovitico ordenou
a deteno e a deportao de Moscou da comunista norte-americana Anne Louise Strong, por ter escrito um livro em
que homenageava Mao como o lder de uma nova forma de socialismo asitico (ROUCEK, 1965).
199 A Ascenso Chinesa e a Nova Geopoltica e Geoeconomia das Relaes Sino-Russas
do Estado chins e, em ltima instncia, do apoio da URSS. A China dependia
do auxlio sovitico para desenvolver suas instituies e seu sistema de inovaes.
Dos anos 1950 at o incio do decnio seguinte, alm de transferir tecnologia
prpria, a URSS deslocava algumas de suas instituies-chave para aumentar o
know-how das instituies que haviam sido criadas na China (LEO, 2010).
No campo poltico, a oposio ideolgica entre os dois pases tornou-se cada
vez mais acirrada. A China acusava a URSS de praticar polticas antimarxistas
ao buscar acordos com o Ocidente, ao defender a coexistncia pacfca com os
Estados Unidos evitando um confito militar com a potncia capitalista a no
inevitabilidade da guerra e a destalinizao de suas polticas (ROUCEK, 1965).
4
Para os chineses, tais polticas soviticas representaram uma mudana da ide-
ologia comunista defendida por Mao em direo a uma contrarrevoluo. Segun-
do Mao, Khrushchev deix[ou] de lado os objetivos principais da revoluo, como
a igualdade social, a ascenso das massas camponesas e a supresso da burguesia
(FAIRBANK; GOLDMAN, 2006). Em razo disso, houve divergncias entre eles
no que concerne ao apoio aos movimentos de libertao nacional que ocorreram
na poca. Frente s fssuras ideolgicas entre os dois pases, a busca de autonomia
nuclear por parte da China ganhou novo sentido. A URSS passou a ver na pro-
duo de bombas atmicas chinesas uma ameaa ao seu modelo de socialismo e
comeou a revogar a promessa de auxiliar o intercmbio tcnico na rea nuclear.
No entanto, apesar dos impeditivos, a China detonou sua primeira bomba atmi-
ca em 1964 (LOBO, 2007). A crise entre os dois pases teve seu pice quando da
sada dos tcnicos soviticos, que estavam encarregados de orientar a construo
de uma srie de projetos industriais chineses em meados de 1960. Com o fm da
cooperao tcnica entre os dois pases em 1963, houve um processo de ruptura na
relao entre eles e esse antagonismo tornou-se mundialmente conhecido.
Em suma, as contradies de cunho ideolgico entre as duas naes socialis-
tas e as questes nucleares foram fulcrais para a ruptura de suas relaes na dcada
de 1960. Assim, a China entrou em um perodo de grande isolamento, j que
no mantinha contato nem com o bloco sovitico, nem com o Ocidente. A fm
de fazer frente a esse cenrio externo desfavorvel, Mao buscou um desenvolvi-
mento pautado em uma estratgia econmica de autossufcincia e de resistncia
a uma possvel guerra com a URSS (LEO, 2010). A despeito dessa ruptura e do
isolamento chins, tenses de variadas origens entre as duas potncias do mundo
4. A crise dos msseis de Cuba (1962) foi um grande momento de discrdia entre o bloco sovitico e a China. Nesse epi-
sdio, a Unio Sovitica havia instalado msseis nucleares em Cuba, o que havia criado um imenso desconforto para os
Estados Unidos, engendrando uma grande ameaa de guerra nuclear entre as duas grandes potncias da Guerra Fria.
Contudo, a m de evitar tal conito catastrco, Khrushchev, em 28 de outubro de 1962, retirou os projteis enviados
a Cuba. Nesta ocasio, a China condenou o lder e toda a direo sovitica de traidores da ideologia marxista-leninista
(ROUCEK, 1965). Khrushchev recusou apoiar a China na crise dos estreitos de Taiwan em 1958, para, mais uma vez,
impedir possveis hostilidades com os Estados Unidos.
200 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
socialista se mantiveram, e algumas outras se intensifcaram. Um exemplo foi o
intuito da URSS em formar um sistema coletivo de segurana asitico em 1969,
que logo foi rejeitado pela China.
5
Durante os anos 1960, Moscou devotou grandes esforos para aumentar
a presena militar ao redor da periferia da Repblica Popular da China. Mais
direto e visvel, foi o aumento da presena militar da URSS nas fronteiras sino-
-sovitica e sino-mongol este ltimo por meio da defesa mtua. A rivalidade
entre os dois pases se dava notadamente sobre as regies da Monglia e Xinjiang.
No comeo dos anos 1960, os soviticos mantinham de 12 a 15 divises em seus
territrios por toda a costa do Pacfco e outras 20 divises se encontravam por
todo o restante da fronteira sino-sovitica (LIEBERTHAL, 1978).
6
Assim, a partir desse perodo observou-se, ao mesmo tempo, o avano do iso-
lamento e da restrio externa chinesa. Sem contar com o apoio sovitico e sofrendo
com a estagnao das exportaes e a difculdade de obter crditos dos mercados
capitalistas, a China se viu impossibilitada de manter as importaes de mquinas
e equipamentos para industrializao, levando-se ainda em conta o aumento da
demanda por alimentos. Embora o pas ainda contasse com alguns recursos oriun-
dos de Hong Kong, esses foram insufcientes tanto para execuo dos programas
industriais, como para alimentar sua populao (MADDISON, 2007).
7
Nesse sentido, explicitou-se a grande dependncia da China em relao
URSS. Apesar dos avanos realizados por Mao, que permitiram, por exemplo,
o desenvolvimento da uma indstria pesada e de novos setores agrcolas, a eco-
nomia chinesa foi estrangulada pelo afastamento com a URSS. Esse cenrio de
dependncia somente se alterou nos anos 1970 e mais notadamente nos anos
1980, quando o pas asitico retomou suas relaes com os pases capitalistas e
5. A inteno desse sistema era incorporar todos os pases asiticos em um sistema de segurana coletivo multilateral
que garantiria a manuteno das fronteiras estatais j estabelecidas naquele perodo. Porm, no era claro quais aes
de cunho multilateral seriam praticadas. Alm do mais, eram evidentes as vantagens de um sistema de segurana
coletivo na regio para os soviticos. Tal mecanismo multilateral poderia servir como um instrumento legtimo para
aumentar a inuncia sovitica nas grandes disputas entre pases asiticos e, tambm, poderia ser um meio pelo qual
se justicaria a manuteno de seus recursos militares na regio com a desculpa de atender a possveis interesses em
nome da segurana coletiva da sia. Em funo disso, a China posicionou-se claramente contra a formao desse
sistema de segurana coletivo por reconhecer suas vantagens unilaterais favorveis Unio Sovitica. Por sua vez, os
soviticos utilizaram as fortes objees dos lderes chineses para armarem que a China objetivava praticar polticas
expansionistas e belicosas na sia (LIEBERTHAL, 1978).
6. Questes militares da mesma maneira contriburam para a manuteno da tenso entre os dois pases. Nos conitos
militares foi dada notoriedade s questes de fronteira. A histrica zona de tenses e conitos fronteirios ganhou no-
vos episdios nos anos 1960 entre as duas grandes potncias socialistas. Incidentes se iniciaram ao longo dos 6,4 mil
quilmetros de fronteira sino-sovitica (FAIRBANK; GOLDMAN, 2006). A China socialista armava a existncia de tra-
tados injustos entre os dois pases, acusando a Unio Sovitica de possuir territrios que pertenciam outrora China.
7. Dois aspectos adicionais contriburam para o avano dessa restrio: em primeiro lugar, o baixo nvel das exporta-
es, que era explicada pelo pequeno nmero de poucos mercados abertos para seus produtos e pela base exportado-
ra muito pouco diversicada; e em segundo lugar, pela necessidade crescente de importaes de produtos primrios,
principalmente depois dos insucessos da poltica agrcola do Grande Salto Adiante projeto poltico e econmico
executado entre 1958 e 1960.
201 A Ascenso Chinesa e a Nova Geopoltica e Geoeconomia das Relaes Sino-Russas
estabeleceu gradualmente uma parceria comercial e fnanceira de longo prazo
com os Estados Unidos. Isso evidentemente modifcou os rumos das relaes
entre China e URSS.
3 A RELAO SINO-RUSSA PS-ANOS 1970: AVANOS E RETROCESSOS EM
UM CENRIO DE RETOMADA DA HEGEMONIA NORTE-AMERICANA E NA
CONSOLIDAO DA CHINA COMO POTNCIA INTERNACIONAL
3.1 Os anos 1970 e 1980
As relaes entre China e Rssia, cuja trajetria nos anos 1950 e 1960 foi marca-
da por um contnuo distanciamento, sofreram grandes transformaes no pero-
do subsequente. A reaproximao sino-americana, desde os anos 1970, a ascenso
chinesa como potncia econmica global e ator poltico central dos pases emer-
gentes, bem como a ofensiva norte-americana, visando desestabilizar o bloco sovi-
tico na dcada de 1980 redefniram as relaes entre os dois pases. Efetivamente,
a retomada da hegemonia dos Estados Unidos e o reposicionamento econmico e
poltico da China no sistema mundial impuseram URSS um redesenho de sua
estratgia geopoltica e geoeconmica. Nesse sentido, a articulao entre os dois
pases foi sendo capitaneada pelo dinamismo chins, assim como pelas tenses e
interesses comuns existentes entre os dois pases e os Estados Unidos.
A retomada das relaes entre China e Estados Unidos ocorreu no governo
de Richard Nixon (1969-1974), cujas diretrizes da poltica externa enxergavam
em um potencial confito com a China um dos principais focos de instabilidade
internacional. Isso se explicou por vrias razes. A primeira delas foi o posicio-
namento antissovitico adotado pela China. As demais foram apontadas por
Furtado (2010, p. 350/352-353):
Nixon prognosticava que a sia continuaria sendo a maior ameaa paz mundial,
referindo-se ao signifcativo aumento do poder blico da China, Coria do Norte e
Vietn do Norte, o que tornava a possibilidade de guerra um perigo real e iminente,
e que no futuro seria preciso fcar atento ao nacionalismo asitico. Entretanto, des-
tacava que no seria pela retirada que os Estados Unidos deixariam de se envolver
em novos confitos ou guerras na sia, mas sim, continuando a desempenhar um
papel importante na regio. [Especifcamente sobre a China, Nixon afrmava que]
encarar a realidade da China era reconhecer seu perigo atual e potencial. (...)
precisava-se fazer uma distino bem ntida entre os interesses de longo prazo e os
interesses de curto prazo. Numa perspectiva de longo prazo, no era possvel man-
ter (...) por mais tempo a China em um isolamento ressentido (...). Mas a China
tambm precisava mudar, e nesse sentido o objetivo dos Estados Unidos deveria
ser induzir essa mudana, persuadindo a China de que ela no pode satisfazer
suas ambies imperiais, e que seu prprio interesse nacional requer afastamento
do aventureirismo externo e um retorno para si, para a soluo de seus prprios
202 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
problemas domsticos. Para tanto, era necessrio criar as condies para que essa
transformao se operasse, no sentido de uma acomodao com o Ocidente, a co-
mear pela abertura diplomtica.
Da perspectiva chinesa, a reaproximao com os Estados Unidos foi vista
como uma oportunidade para, ao mesmo tempo, superar o isolamento interna-
cional e a restrio externa, bem como ampliar sua capacidade de resistncia em
relao ao bloco sovitico. A opo de Mao de retomar os contatos com os Estados
Unidos se justifcou pela preocupao com a concentrao de tropas soviticas nas
fronteiras chinesas, assim como por causa das presses realizadas por certos grupos
econmicos especialmente ligados ao setor de petrleo (FURTADO, 2010).
8
Foi nesse contexto que o PCC e o governo republicano norte-americano
buscaram retomar suas relaes bilaterais. A partir de ento, a China conseguiu
do governo Nixon a concesso de crdito dos bancos ofciais norte-americanos
para importar bens primrios e de capital e o tratamento de nao mais favoreci-
da (NMF). Em 1972, o presidente norte-americano visitou a China e os lderes
dos dois pases divulgaram o Tratado de Xangai em 28 de fevereiro de 1972 ,
no qual os Estados Unidos reconheceram que Taiwan fazia parte do territrio
chins. Em 1973, apoiado pelo governo norte-americano, o Banco Mundial, por
meio de seu presidente Robert McNamara, fez um convite formal para que a
China passasse a integrar a estrutura do banco (JACOBSON; OKSENBERG,
1990). Ademais, em funo da aliana entre URSS e ndia no comeo da dcada
de 1970, quando as tenses entre ndia e Paquisto se aprofundaram, os Estados
Unidos, que se uniram militarmente ao Paquisto, conseguiram, por intermdio
da interveno poltica e diplomtica nesse ltimo pas, o apoio do governo chi-
ns para conter eventuais ataques indo-soviticos.
9
8. Entre o incio e meados da dcada de 1970, formaram-se novas relaes polticas com o intuito de redenir o equi-
lbrio de foras dentro do PCC e de subjugar a Revoluo Cultural (projeto poltico, social e econmico adotado entre
1966 e 1976) a um segundo plano. Primeiramente, os membros do grupo contrrio revoluo foram reabilitados e
assumiram uma posio central no Partido. Depois disso, a Gangue dos Quatro (principal grupo articulador da revoluo)
e os demais que haviam apoiado a Revoluo Cultural se fragilizaram no interior do Partido. Suas ideias passaram a ser
vistas como um smbolo de atraso, de resgate tica do confucionismo que, como j mencionado, era parte respon-
svel pela represso das massas rural e urbana (LEO, 2010). Dois eventos ocorridos em 1976 marcaram a reverso
denitiva da balana de poder no interior do PCC: o terremoto de Tangshan, que matou meio milho de pessoas, e a
morte de Mao. Como lembraram Fairbank e Goldman (2006, p. 371), todo campons acreditava na relao umbilical
entre o homem e a natureza e, portanto, nas relaes entre desastres naturais e as calamidades humanas. Depois desse
pressgio to aterrorizante [o terremoto de Tangshan], s outra calamidade poderia acontecer: a morte de Mao. E esta
ocorreu em setembro do mesmo ano. Logo aps o falecimento, a Gangue dos Quatro, sem o apoio de Mao, foi presa por
ordens do novo lder do Partido , Hua Guofeng. Nos dois meses que se seguiram, as acusaes aos membros da Gangue
cresceram da mesma forma que as crticas sobre os mtodos utilizados na Revoluo Cultural. Como as bases do projeto
poltico e econmico de Hua resgatavam alguns princpios da Revoluo Cultural, a instituio administrativa do PCC
fechou-se gradualmente em torno do grupo liderado por outras guras do Zhou Enlai e Deng Xiaoping.
9. De fato, tanto os Estados Unidos como a Unio Sovitica tiveram entre suas principais estratgias de poder, durante
o perodo, as intervenes em conitos regionais ou nacionais, com o objetivo de evitar que certos pases se aliassem
ao adversrio. Contudo, na maior parte das intervenes, os conitos eram preexistentes. Assim ocorreu, por exemplo,
no conito entre ndia e Paquisto: durante a Guerra Fria, a ndia se aliou Unio Sovitica, enquanto o Paquisto se
aliou China e aos Estados Unidos (MORAES, 2010, p. 38).
203 A Ascenso Chinesa e a Nova Geopoltica e Geoeconomia das Relaes Sino-Russas
Mesmo depois da morte de Mao em 1976 e da vitria do Partido Democra-
ta nas eleies de 1977, a reaproximao entre as duas naes continuou avanan-
do rapidamente. No fnal de 1978, o governo norte-americano aceitou romper
relaes diplomticas com Taiwan, anular o Tratado de Defesa Conjunto assi-
nado com Taiwan e que estava em vigor desde 1954 e retirar os militares norte-
-americanos dessa regio. Em 1
o
de janeiro de 1979, ofcialmente restabeleceram-
-se as relaes diplomticas entre China e Estados Unidos. No incio da dcada
seguinte, o governo democrata de Jimmy Carter (1977-1981) classifcou a China
como nao em desenvolvimento, o que permitiu a queda das tarifas norte-
-americanas para as exportaes chinesas de txteis e vesturios em cerca de 50%
e tambm realizou um novo acordo comercial com o pas asitico, estendendo sua
condio de NMF (MEDEIROS, 1999; JAKOBSEN, OKSENBERG, 1990).
Como observado, a maior convergncia entre as polticas externas de China
e Estados Unidos nos anos 1970 respondeu aos interesses de ambas as naes de
conter o avano do bloco sovitico. Seja pelas tenses fronteirias entre China e
URSS, seja pelo crescimento do comunismo na sia, a normalizao das relaes
entre China e Estados Unidos foi produto dos confitos existentes entre os dois
pases e o bloco socialista sovitico. Esse cenrio se fortaleceu no fm dos anos
1970 por causa da estratgia de distanciamento formulada por China e URSS,
da ampliao do sistema socialista em outras regies (frica e Oriente Mdio,
notadamente) legitimado pelo bloco sovitico , da ofensiva ideolgica contra
o sistema capitalista norte-americano
10
e do incio das reformas de abertura e
modernizao da economia chinesa.
No mbito das relaes sino-soviticas, os confitos que marcaram os anos
1950 e 1960 permaneceram nesse perodo. As questes fronteirias e as diferenas
ideolgicas continuaram afastando os dois pases, at o fm dos anos 1980, e in-
terrompendo qualquer retomada de suas parcerias polticas, militares, comerciais
e fnanceiras. Ao lado do esgotamento das relaes militares e da no resoluo
das tenses que envolviam as fronteiras dos dois pases, houve efeitos deletrios
na esfera econmica, como sinalizou Stewart (1997, p. 120):
Um efeito quase que imediato da cesso das relaes comerciais sino-soviticas no
comeo dos anos 1960 foi o abandono da infraestrutura que havia sido construda
dos dois lados da fronteira para facilitar o intercmbio dos produtos comercializados.
(...) [Ou seja,] o resultado econmico de anos de confrontos militares e polticos
10. Segundo Fiori (2007, p. 83-84), esse dois fatores eram pilares centrais da crise de hegemonia vivida pelos Estados
Unidos nos anos 1970: Existe uma interpretao dominante, sobre a crise da hegemonia americana, da dcada
de 1970, que reala, no campo geopoltico, as derrotas militares e os fracassos diplomticos dos Estados Unidos,
no Vietn e seu efeito domin no Laos e no Camboja , mas tambm na frica, na Amrica Central e no Oriente
Mdio, culminando com a revoluo xiita e a crise dos refns, no Ir, e a invaso sovitica do Afeganisto, j no nal
da dcada, em 1979. Segundo Hobsbawm (1995), embora esses eventos no representassem efetivamente nenhuma
grande ameaa aos Estados Unidos, estes afetaram signicativamente o prestgio internacional dos Estados Unidos.
204 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
trouxeram a destruio de rodovias, estradas, pontos e toda a infraestrutura de fron-
teira necessria para a cooperao sino-sovitica. Isso permaneceu ao longo das dca-
das seguintes (...) o que fez com [que] o comrcio entre os dois pases permanecesse
em patamares relativamente baixos at meados dos anos 1980.
Nas relaes entre Estados Unidos e URSS, observou-se o aumento das
tenses entre os dois pases em razo da rpida disseminao de regimes socialis-
tas em outras regies no fm dos anos 1970. Todavia, como destacou Hobsbawm
(1995), as repblicas soviticas no apresentavam, at os anos 1970, nenhum
movimento organizado de oposio ao regime socialista. Todavia, no fm da-
quela dcada, a partir da ascenso do Sindicato da Solidariedade movimento
sindical no comunista apoiado, pelo ento novo papa Karol Wojtyla a Polnia
conseguiu reunir as condies para organizao de uma oposio ao regime so-
cialista, tendo em vista a existncia de um nacionalismo antirrusso (e antijudeu)
e conscientemente catlico romano, assim como de uma organizao indepen-
dente nacional da Igreja e da formao de uma classe operria fortemente articu-
lada e contrria ao regime. A despeito dos movimentos revolucionrios de cunho
socialista ocorridos na frica e no Oriente Mdio, a confgurao desse cenrio
na Polnia explicitou as primeiras debilidades do regime sovitico, pois com
o resto dos governos-satlites observando nervosos o desenrolar desse roteiro, a
maioria tentando impedir seu prprio povo de tambm fazer o mesmo, tornou-
-se cada vez mais evidente que os soviticos no estavam dispostos a intervir
(HOBSBAWM, 1995, p. 461).
Aproveitando esse cenrio de enfraquecimento do bloco sovitico e de
ascenso de governos socialistas fora da URSS, o presidente Ronald Reagan
(1981-1989) encontrou o discurso ideal para estabelecer um novo projeto
poltico conhecido como Segunda Guerra Fria a fm de isolar os soviticos
e minar a expanso do socialismo. A estratgia foi sufocar a continuidade do
bloco sovitico e limitar a infuncia da ideologia socialista, a partir de cinco
frentes: i) o projeto militar e tecnolgico Strategic Defense Initiative (SDI);
ii) o apoio aos movimentos anticomunistas em diversos lugares do planeta;
iii) a instalao de uma rede de msseis MX; iv) a campanha para reduzir
o acesso da URSS s divisas internacionais; e v) a rpida aproximao dos
Estados Unidos com a China por intermdio da abertura do mercado norte-
-americano para os produtos chineses e tambm das concesses fnanceiras
para apoiar seu desenvolvimento (FIORI, 1997; MEDEIROS, 2008).
Em sntese, essas frentes lanadas pelo governo norte-americano, espe-
cialmente a instalao dos msseis MX e o lanamento do projeto SDI, tive-
ram objetivos distintos, mas que visaram o mesmo alvo: afetar militarmente a
URSS. Alm disso, o apoio norte-americano aos movimentos anticomunistas,
que avanou por diversas localidades do mundo mediante o auxlio fnanceiro
205 A Ascenso Chinesa e a Nova Geopoltica e Geoeconomia das Relaes Sino-Russas
e militar, desestabilizou a regio de infuncia da URSS. No caso do Afeganis-
to, por exemplo, apoiar os mujahedin combatentes armados inspirados no
fundamentalismo islmico contra o Exrcito Vermelho sovitico, mediante
o fornecimento de armas e recursos, foi o canal encontrado por Reagan para
desgastar o setor militar da URSS e conseguir aglutinar os interesses da ideolo-
gia liberal (anticomunista) com os islmicos. No campo econmico, o governo
norte-americano ainda imps ao governo sovitico um embargo compra de
tecnologia de ponta e de acesso s divisas externas como no caso de Urengoi.
11
Por fm, as concesses e o apoio norte-americano ao desenvolvimento eco-
nmico chins puderam ser entendidos como uma forma de fortalecer a antiga
aliada e agora rival da URSS e isolar o sistema socialista sovitico. Ou seja, o
apoio ao crescimento da China se confgurou em uma estratgia fundamental
dos Estados Unidos a fm de enfraquecer a legitimidade e a infuncia do socia-
lismo sovitico na sia. Por isso, entre o fm da dcada de 1970 e o incio dos
anos 1980, os impulsos enviados pela economia norte-americana para acelerar o
desenvolvimento econmico chins avanaram decisivamente.
Alm desse aspecto, esse suporte fornecido pelos Estados Unidos visou tam-
bm abrir um espao para ampliao da acumulao do capital norte-america-
no.
12
Todavia, esse movimento de internacionalizao dos Estados Unidos para a
China no se concretizou apenas em funo da estratgia adotada pelas empresas
e pelo governo norte-americano, mas tambm por causa de um programa de re-
formas de abertura da economia chinesa, em que uma de suas diretrizes atribua
ao capital estrangeiro um papel fundamental para acelerar o desenvolvimento do
pas e redefnir sua insero externa.
Em primeiro lugar, o aproveitamento da globalizao da produo, por in-
termdio da associao das frmas chinesas com as empresas transnacionais que
possuam as tcnicas de produo mais avanadas e uma gigantesca massa de
capital , impulsionaria o processo de industrializao e de desenvolvimento tec-
nolgico do pas. A partir do amplo deslocamento de parte das cadeias de pro-
duo dessas transnacionais, abrir-se-iam oportunidades para a China absorver
capital estrangeiro a fm de apoiar a sua industrializao. Em segundo lugar, a
China teria capacidade de ampliar suas exportaes, aproveitando a abertura de
novos mercados para seus produtos intensivos em trabalho e de alto contedo
tecnolgico para os quais foram sendo atradas indstrias estrangeiras, a fm de
11. Financeiramente, para a Unio Sovitica, o boicote americano venda de equipamentos para a construo do
gasoduto de Urengoi foi particularmente estratgico, na medida em que impedia que a URSS obtivesse divisas ne-
cessrias s suas importaes em expanso e ao nanciamento dos seus aliados. Esse foi um caso clssico de guerra
econmica: o embargo da venda dos equipamentos que a URSS no possua e necessitava para a construo do
gasoduto reduzia a capacidade da economia sovitica obter as divisas necessrias compra de tecnologia sosticada
(MEDEIROS, 2008, p. 207).
12. Sobre essa discusso, ver o captulo 1 deste mesmo livro.
206 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
superar a elevada restrio externa (LEO, 2010). Segundo Zonenschain (2006,
p. 99), embora o capital estrangeiro no tivesse representado grande parcela da
formao bruta de capital fxo, sua presena na China tem sido de extrema impor-
tncia por dois fatores. Primeiro, porque essas empresas fcaram responsveis por
uma parcela expressiva das exportaes realizadas pela China. Segundo, [porque]
constituram fonte primordial de tecnologia e de oportunidades de negcios para
empresas domsticas chinesas.
Efetivamente, a China aproveitou-se do movimento de transnacionalizao
da produo, liderado pelas grandes corporaes da trade capitalista notada-
mente as norte-americanas , para absorver tecnologia e capital internacional,
oferecendo, em contrapartida, oportunidades de ganhos via exportao ou ex-
plorao do mercado interno para essas empresas. Assim, conforme demons-
trou Furtado (1992, p. 74) ao analisar o desenvolvimento capitalista mundial,
a intensifcao do processo de acumulao da China ocorreu a partir da espe-
cializao nas atividades produtivas em que a revoluo em curso no modo de
produo abria maiores possibilidades ao avano das tcnicas, transformando-se
em focos geradores do processo tecnolgico.
13
Por causa disso, a China buscou
estreitar suas relaes com pases desenvolvidos que possuam know-how em se-
tores de tecnologia de ponta, sendo importante tambm a existncia de amplos
mercados consumidores e de crdito para, ao mesmo tempo, adquirir e fnanciar
os produtos chineses exatamente o caso dos Estados Unidos.
Como resultado desses movimentos, no fm dos anos 1970 e no decnio seguin-
te, observou-se uma convergncia de interesses entre Estados Unidos e China, que
motivaram o maior intercmbio comercial, poltico e fnanceiro entre as duas naes.
Segundo dados do governo chins, entre 1986 e 1990, a participao mdia do in-
vestimento direto dos Estados Unidos no total recebido pela China foi de 10,7% o
principal investidor depois da regio asitica naquele perodo , sendo que 1986 foi o
ano no qual os Estados Unidos alcanaram sua maior participao na srie histrica
(1986-2009) com 14,6%.
14
Nas exportaes, os Estados Unidos se frmaram como
terceiro maior parceiro da China nos anos 1980, atrs somente de Hong Kong e Japo.
Entre 1985 e 1990, as exportaes chinesas para os Estados Unidos se ampliaram mais
de 120%, saltando de US$ 2,3 bilhes para US$ 5,2 bilhes para o Japo, por exem-
plo, o crescimento foi de 47,5% (CHERNAVSKY; LEO, 2010).
13. No capitalismo contemporneo, a industrializao e a modernizao econmica se tornaram muito mais com-
plexas, congurando-se impossveis sem o apoio das grandes transnacionais. Isso se explicava pelo fato delas cen-
tralizarem boa parte do capital e das tecnologias de ponta e por liderarem vrios ramos da cadeia produtivas mais
importantes do mundo atual. De tal forma, ao contrrio das industrializaes de Japo e Coreia do Sul, onde os capitais
nacionais sustentados pelos seus respectivos Estados conduziram quase exclusivamente esse processo (muito embora
fossem patrocinados pelos Estados Unidos), na China a entrada do capital estrangeiro era essencial para o seu desen-
volvimento industrial (LEO, 2010, p. 41).
14. Para essas informaes, ver: <http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI_EN/default.htm>.
207 A Ascenso Chinesa e a Nova Geopoltica e Geoeconomia das Relaes Sino-Russas
Evidentemente essa retomada da hegemonia dos Estados Unidos nas esferas
econmica e, especialmente, poltica e o maior dinamismo da economia chinesa
em um cenrio de maior articulao da China com a economia internacional
modifcaram a lgica das relaes entre o pas asitico e a URSS. Em um primeiro
momento, essa lgica foi marcada pelo grande distanciamento e estreitamento
das relaes de China e Estados Unidos que buscavam isolar o bloco sovitico.
Todavia, em um segundo momento, a partir do declnio da URSS e da ascenso
econmica e poltica da China que foi assumindo gradativamente o papel de
rival dos Estados Unidos , houve uma reaproximao entre os dois pases capi-
taneada pelos interesses da China e pelas debilidades da URSS e depois Rssia.
Nesse ponto importante ressaltar que o quadro formado nesse segundo mo-
mento respondeu no apenas s transformaes geoeconmicas e geopolticas, mas
tambm s polticas internas adotadas pelos dois pases nos anos 1980 e incio dos
anos 1990. Enquanto a China adotou um conjunto de reformas econmicas pauta-
do pela modernizao, abertura controlada e maior produtividade de sua estrutura
de produo tanto urbana como rural , bem como pelo desenvolvimento de
grandes empresas e polos tecnolgicos estatais executando um conjunto de polticas
macroeconmicas fortemente expansionistas expanso do crdito pblico, aumen-
tos dos gastos fscais, desvalorizao cambial etc. , a URSS no perodo Mikhail
Gorbachev (1985-1991) realizou uma abertura indiscriminada econmica e poltica.
Esse processo se materializou na abertura indiscriminada para o mercado de vrias
cadeias produtivas antes controladas pelo Estado, na privatizao das estruturas
de poder decisrio do Partido Comunista da Unio Sovitica (PCUS) e na reduo
abrupta dos gastos militares responsveis por grande parte do valor adicionado da
indstria e do desenvolvimento tecnolgico do pas.
15
Como resultado desses movimentos externos e internos, a China ganhou
espao na economia internacional, ao contrrio do que foi observado na URSS
que se mostrava incapaz de concorrer tecnologicamente com os pases desenvol-
vidos, tornando-se cada vez mais dependente da sua indstria de commodities.
Essa tendncia se fortaleceu com o fm da URSS, em 1991, e a formao de uma
Rssia principal repblica sovitica economicamente enfraquecida. Os dados
da tabela 1 mostram como em um curto perodo de tempo a economia chinesa
conseguiu se aproximar da URSS e logo depois ultrapassar a economia russa.
15. Nesse ponto, vale ressaltar que essa estratgia da URSS de reduzir seu status militar, eliminou qualquer capa-
cidade do pas de fazer frente poltica armamentista norte-americana impulsionada pelo governo Reagan. Isso
deixou clara a incapacidade de competio dos dois sistemas e o enfraquecimento da estrutura econmica e poltica
do bloco sovitico. Entre as principais aes realizadas por Gorbachev destacaram-se: a suspenso unilateral dos
testes nucleares e a retirada do Exrcito Vermelho no Afeganisto; a ruptura do movimento de expanso do gasto
militar acompanhada por uma reviso da estratgia militar, que deveria dar espao para outros setores da economia;
e a assinatura dos Acordos de Reykjavk e Malta para reduo das foras militares e destruio de todos os msseis
balsticos (FIORI, 1997; MEDEIROS, 2008).
208 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
Em 1980 todos os indicadores da economia sovitica superavam os da eco-
nomia chinesa pelo menos em duas vezes. O produto interno bruto (PIB) e as
exportaes da URSS, por exemplo, eram, respectivamente, 3,1 vezes e 4,2 vezes
superiores ao verifcado na China. Essa disparidade se reduziu de modo acelerado
ao longo dos anos 1980. Em 1990, o PIB sovitico era somente 1,9 vez maior que
o chins, o que signifcava uma diferena de US$ 372,7 bilhes. Nas exportaes e
no PIB de servios essa queda foi ainda mais abrupta, uma vez que a relao das ex-
portaes soviticas e chinesas caiu de 4,2 para 1,7 e do PIB de servios da URSS e
da China diminuiu de 6,1 para 1,9. Ou seja, a taxa de crescimento das exportaes
e do PIB de servios foi muito maior na China do que na URSS. J em 1995, aps
a queda do bloco sovitico, a China superou a Rssia em todos os indicadores,
com destaque para o PIB industrial chins que era 149% maior que o PIB russo.
TABELA 1
Evoluo de indicadores econmicos selecionados China e Rssia, 1980-1995
(Anos selecionados, em US$ bilhes correntes)
1980 1985 1990 1995
Importaes
China 19,9 42,3 53,3 132,1
URSS/Rssia 68,5 83,1 120,7 68,9
Exportaes
China 18,1 27,4 62,1 148,8
URSS/Rssia 76,4 87,3 104,2 82,9
PIB
China 306,5 309,1 404,5 757,0
URSS/Rssia 940,0 914,1 777,1 399,2
PIB industrial
China 146,3 132,7 162,6 344,0
URSS/Rssia 432,9 382,8 331,7 137,9
PIB de servios
China 65,5 101,4 140,2 248,8
URSS/Rssia 401,9 397,8 237,3 207,0
Fonte: Unctad (2010).
Elaborao dos autores.
Desse modo, a reverso da balana de foras entre as duas naes em um
cenrio de avano da abertura poltica e econmica de ambos fez com que a
URSS direcionasse sua poltica externa desde meados dos anos 1980 para a
China. Isso explicou porque, entre 15 e 18 de maio de 1989, o ento secretrio
geral do PCUS Mikhail Gorbachev visitou ofcialmente a China. O tema basi-
lar da reunio com o lder chins Deng Xiaoping
16
versou sobre as perspectivas
de futuro na relao entre as duas naes. Alm do sucesso alcanado pelas
reformas de transio da China que se iniciaram em 1978, cujos resultados j
podiam ser observados no rpido desenvolvimento da indstria e agricultura e
16. Deng Xiaoping ocupou, entre outros, os cargos de presidente da Comisso Militar Central da China (1983-1990)
e de vice-presidente do PCC (1975-1982), sendo o principal lder poltico da China at 1992.
209 A Ascenso Chinesa e a Nova Geopoltica e Geoeconomia das Relaes Sino-Russas
no crescimento do PIB, essa estratgia de Gorbachev de retomar e estreitar as
relaes com a China foi explicada tambm pelo aumento das tenses geopol-
ticas entre a URSS e as regies prximas ao pas asitico:
Na tentativa de criar condies externas favorveis propcias a reformas internas,
o novo governo sovitico dependeu em grande medida de uma reconciliao com
Pequim. Uma melhoria nas relaes com a China foi indispensvel para o sucesso
da poltica de Gorbachev. Cortes drsticos nas foras armadas levando a uma redu-
o das despesas pblicas nesta rea, um rpido desenvolvimento da Sibria e do
Extremo Oriente ligado expanso do comrcio transfronteirio, um acordo no
Afeganisto e Camboja, o envolvimento da URSS em uma cooperao econmica
regional na sia e no Pacfco tudo isso e uma srie de outros objetivos essenciais
nas polticas soviticas nacionais e externas esto diretamente ligados ao estado das
relaes com a China. A luta para ganhar o controle sobre vrios grupos dentro
do governo e do Partido para determinar uma reconciliao com Pequim, o que
Gorbachev considerava ser um dos fundamentos de sua poltica externa, tem sido
um trabalho rduo para ele. (...) at a segunda metade dos anos 1980 a URSS e a
liderana sovitica tinham construdo um pensamento unilateral positivo sobre as
reformas chinesas. Um fator que contribuiu foi a informao enviesada que adveio
de vrias fontes. Muitos observadores soviticos em visita China, incluindo os
no-sinlogos, fcaram realmente impressionados com a oferta de bens de consumo,
enquanto que, alm disso, aqueles que queriam acelerar a perestroika, muitas vezes
procuraram exagerar as realizaes das reformas chinesas, as zonas econmicas
especiais, etc. a fm de dar ao governo sovitico um impulso extra necessrio para
a adoo de medidas similares (LUKIN, 1991, p. 120/122).
A China tambm teve interesses claros em se reaproximar da URSS.
Em primeiro lugar, isso ocorreu por causa da poltica externa chinesa de as-
censo pacfica, na qual a normalizao das relaes diplomticas com di-
versos pases assumiu uma funo central. Como definiram Cunha e Acioly
(2009, p. 348-349), nas relaes externas na China,
() houve a busca de reduo dos confitos com os vizinhos, o que determinou,
desde meados dos anos 1980, a restaurao ou estabelecimento de relaes diplo-
mticas com Cingapura (1990), Indonsia (1990), Brunei (1991) e Coreia do Sul
(1992), (...) e a normalizao das relaes com Monglia (1989), Rssia (1989) e
Vietn (1991).
Esses movimentos de aproximao compuseram a estratgia de legitimao
internacional do sistema poltico chins.
Em segundo lugar, essa aproximao refetiu o desejo chins de realizar inter-
cmbio com a URSS nas reas tecnolgica e militar. Desde a invaso chinesa no
Vietn em 1979, o PCC enxergou a necessidade de incrementar seu oramento
militar, superando o anacronismo deste setor. Aps esse evento, fcou evidente o
210 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
atraso e a baixa capacidade militar da China que poderiam ser superados, em um
primeiro momento, a partir de parcerias com pases com setores militares mais
modernos caso da URSS (LEO, 2010).
Portanto, na entrada dos anos 1990, o padro histrico das relaes entre
China e Rssia comeou a apresentar uma nova dinmica, tendo em vista as mu-
danas econmicas e polticas sofridas pelos dois pases. Todavia, a exemplo do
que aconteceu nos anos 1970 e 1980, os rumos dessa relao foram fortemente
infuenciados pelas decises do governo norte-americano.
3.2 Os anos 1990 e 2000
Como observado na seo anterior, a primeira metade da dcada de 1990 mos-
trou uma mudana estrutural na relao entre China e Rssia. Agora, o primeiro
pas apresentava uma economia mais dinmica e diversifcada, absorvendo inds-
trias menos complexas intensivas em trabalho e aquelas de maior contedo
tecnolgico microeletrnica, informtica etc. Alm disso, a China j deslocava
grandes empresas internacionais e estava formando grandes grupos industriais
para competir externamente , o que permitia o aumento de suas exportaes e
o upgrade tecnolgico, bem como um rpido crescimento da renda. A Rssia,
por sua vez, passava por uma completa desarticulao de sua estrutura produtiva,
dependendo cada vez mais do setor de commodities e refm da indiscriminada
privatizao sofrida pelos setores mais dinmicos de sua economia. Esse cenrio
alterou signifcativamente os interesses e movimentos de aproximao/distancia-
mento de China e Rssia.
Para a China, o ressurgimento da presena russa esteve ligado a aspectos
geopolticos, como a importncia de manter relaes mais estreitas com um pas
que dispe de amplo arsenal militar e que, exatamente por isso, pode auxiliar na
prpria modernizao das foras armadas chinesas. Mas houve tambm interesses
geoeconmicos, dadas as necessidades cada vez maiores de recursos energticos
para evitar o aparecimento de gargalos no processo de desenvolvimento chins,
nada mais adequado do que a reaproximao de uma Rssia com grande capaci-
dade de fornecimento desses recursos.
J para a Rssia, o fortalecimento das relaes com a China assumiu, em
primeiro lugar, uma funo estratgica de reduzir a infuncia de grupos polticos
contrrios gesto do presidente eleito Boris Ieltsin. Conforme ressaltou Norling
(2007, p. 35),
() uma razo para a poltica do presidente russo Boris Ieltsin (1991-1999) se vol-
tar para a China foram as presses domsticas exercidas pelos nacionalistas e parte
de sua base eleitoral que enxergava a aliana com a China como uma forma de
contrabalanar a hegemonia dos Estados Unidos.
211 A Ascenso Chinesa e a Nova Geopoltica e Geoeconomia das Relaes Sino-Russas
Em segundo lugar, a escassez de recursos para sustentar a modernizao do
setor militar e da prpria indstria russa tambm incentivou o estreitamente das
relaes entre os dois pases. Em terceiro lugar,
A Rssia est (...) procurando diversifcar os seus mercados, principalmente para
China, Japo, Coreia do Sul, mas tambm para os Estados Unidos e ndia. Exemplo
disso so as negociaes para a exportao do gs do Mar de Barentz no s para a
Europa, mas tambm para os Estados Unidos e a China (ROMANO, 2010, p. 30).
Entretanto, dada a complexa trajetria de tenses e complementaridades
entre esses dois pases de se supor que tal estreitamento de relaes esbarra em
disputas implcitas acerca da preponderncia regional de ambos. De um lado, a
China tem conduzido a relao dos dois pases, submetendo a estrutura do co-
mrcio e dos investimentos aos seus interesses econmicos e polticos moderni-
zao do setor militar e suprimento da energia para continuar o desenvolvimento
de sua indstria e, de outro, a Rssia tem procurado sustentar sua autonomia
no apenas do seu poderio militar e energtico nicos setores nos quais a Rssia
conseguiu manter certo dinamismo , mas tambm sua capacidade de infuen-
ciar regies vizinhas China.
Ademais, entre o progressivo afastamento da China em relao ao Estado
russo e sua recente reaproximao, observou-se o aumento das tenses polticas
sino-americanas e a criao de uma simbiose/tenso entre as economias da China
e dos Estados Unidos. Os anos 1990 foram caracterizados pela maior capacidade
de interveno econmica dos Estados Unidos no mundo por meio da expanso
do seu territrio econmico supranacional, o que signifcou para a China um
acrscimo das relaes econmicas fuxos comerciais e fnanceiros com os
norte-americanos. O crescente acesso das empresas norte-americanas ao mercado
chins para produzir e vender produtos externamente permitiu a ampliao do
volume de investimentos realizados na China e o aumento das exportaes chi-
nesas que, em grande parte, eram dirigidas para os Estados Unidos. O grande
volume de reservas acumulado pela China a partir da entrada de investimento
direto estrangeiro (IDE) e do aumento das exportaes permitiu ao pas se tor-
nar um grande credor norte-americano a partir da aquisio dos ttulos da dvida
do Federal Reserve (Fed). Ou seja, a entrada de recursos estrangeiros dos Estados
Unidos por meio de exportaes e investimentos tem retornado ao pas pela com-
pra da China dos ttulos da dvida do Fed.
17
Pelo lado da trajetria das relaes polticas bilaterais entre China e EUA, verifcou-
-se um movimento diferente do econmico, ao longo da dcada de 1990, pois
aquele perodo fora marcado pelo aumento das tenses entre estes dois pases a
partir do episdio da Tiananmen, em junho de 1989 represso as manifestao
17. Para uma discusso mais detalhada da relao sino-americana, ver captulo 1 deste livro.
212 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
de estudantes chineses que gerou fortes sanes econmicas contra a China que
perduraram at 1999. Alm disso, outros episdios foram marcantes para aumentar
o confito poltico, tais como a no assinatura do presidente Clinton do acordo que
empenharia o apoio dos EUA ao ingresso da China na OMC (Organizao Mun-
dial do Comrcio), o aumento das vendas de armas para Taiwan provncia rebelde
na concepo do governo chins , o bombardeio por engano da Embaixada da
China em Belgrado/Srvia, em 07 de maio de 1999, durante os ataques areos da
Organizao do Tratado do Atlntico Norte (OTAN) e a coliso de uma aeronave
espio dos EUA com um caa chins sobre o mar do sul da China, em abril de 2001
(PINTO, captulo 1 deste livro).
Esse novo desenho das relaes sino-americanas manteve e no caso da
economia foram reforadas suas principais caractersticas estruturais nos anos
2000. Ou seja, continuou se fortalecendo a complementaridade econmica e as
presses norte-americanas em torno das polticas expansionistas chinesas cm-
bio desvalorizado, subsdios para exportaes e investimentos e outras , bem
como se observaram movimentos de idas e vindas na esfera poltica.
18
Essa
questo tambm desempenhou um papel fundamental na nova construo das
relaes entre China e Rssia.
19
Alm disso, com o fm da URSS abriu-se um espao importante para o au-
mento da infuncia tanto dos Estados Unidos como da China na sia, princi-
palmente na regio central. Nesse cenrio, o papel cumprido pela Rssia assumiu
importncia crescente nos ltimas duas dcadas, uma vez que o pas exerceu, ao
longo da Guerra Fria, grande infuncia na sia Central dado que os pases que
hoje a compe eram parte integrante do prprio territrio sovitico. Em outras
palavras, apesar da dissoluo da URSS e da existncia de novas reas de infuncia
no centro da sia e no Leste Europeu, a Rssia continuou tendo um papel relevan-
te na conduo das polticas desses pases e pde aproveitar-se dessa posio para
conduzir suas relaes com Estados Unidos e China.
18. Apesar disso, importante destacar que, ao contrrio da dcada de 1990, as relaes polticas entre China e
Estados Unidos foram mais estveis, pelo menos at a crise nanceira de 2008. Segundo Pinto (captulo 1 deste livro),
os atentados de 11 de Setembro de 2001 signicaram uma nova reaproximao das relaes polticas entre a China
e os Estados Unidos, ao longo da dcada de 2000, que perdurou at a crise internacional de 2008. Esta reaproxima-
o foi possvel com o apoio chins na empreitada americana de combate ao terrorismo internacional, sobretudo no
Afeganisto e Iraque, e com a assinatura do presidente George W. Bush do acordo de apoio americano ao ingresso
da China na OMC. O revs dessa aproximao poltica est acontecendo no atual momento histrico, marcado pela
conjuntura econmica do ps-crise internacional de 2008, devido elevao das tenses comerciais (guerra cambial e
elevados dcits americano com a China), num contexto em que a economia americana apresenta baixo crescimento
do produto e elevado desemprego.
19. muito mais complicado fazer a avaliao do modelo de catch up, neomercantilista ou nacionalista, seguido por
alguns pases ganhadores, nos sculos XIX e XX. No foram os pases que tiveram maior crescimento do PIB, mas com
certeza, foram os nicos casos em que o desenvolvimento nacional provocou uma redistribuio de poder internacio-
nal. Todos tiveram projetos nacionais expansionistas, se propuseram entrar no ncleo central das Grandes Potncias e
utilizaram retricas nacionalistas. Mas, ao mesmo tempo, apesar do paradoxo aparente, todos mantiveram relaes de
complementaridade virtuosa e acumulativa com a economia-lder do Sistema Mundial, primeiro a Inglaterra, e depois
os Estados Unidos (FIORI, 2004, p. 51).
213 A Ascenso Chinesa e a Nova Geopoltica e Geoeconomia das Relaes Sino-Russas
Nesse sentido, a despeito dos interesses existentes em ambos os pases para o
fortalecimento das suas relaes bilaterais, as transformaes da conjuntura inter-
nacional interferiram diretamente no processo de aproximao entre eles. Desse
modo, apesar das aparentes vantagens existentes, as mudanas geopolticas e geo-
econmicas dos ltimos 20 anos que modifcaram as relaes dessas naes com
outras regies, particularmente os Estados Unidos, obstacularizaram ou refora-
ram essa aproximao sino-russa.
20
Assim, a evoluo das relaes entre China e
Rssia precisou ser entendida a partir da nova confgurao econmica e poltica
global do ps-Guerra Fria, na qual os Estados Unidos reafrmou sua posio de
economia-lder do Sistema Mundial. Como lembrou Fiori (2004), ainda que a
liderana exercida pelos Estados Unidos, tanto na esfera econmica como pol-
tica, tivesse se mostrado incapaz de criar uma estabilidade sistmica, os avanos
e retrocessos nas relaes entre esses dois pases responderam no somente aos
objetivos de suas polticas externas, como tambm complementaridade dessas
naes com os Estados Unidos.
Devido a esse conjunto de questes, torna-se fundamental discutir a relao
sino-russa de uma tica mais abrangente, antes de avanar em questes mais es-
pecfcas, em particular nos campos militar e energtico.
Com a dissoluo da URSS, no comeo dos anos 1990, a Rssia reforou
o estreitamento de seu relacionamento com a China, principalmente depois que
os Estados Unidos apoiaram a expanso da Organizao do Tratado do Atlntico
Norte (Otan) na regio do Kosovo e desenvolveram o sistema nacional defensivo
de msseis (KUCHINS, 2007). A poltica externa de Ieltsin buscava neutrali-
zar o avano da infuncia norte-americana nas antigas repblicas soviticas por
meio do estabelecimento de novas parcerias estratgicas com pases como a China
(NORLING, 2007).
No caso da China, a Guerra do Golfo Prsico, que introduziu armas e tec-
nologias de nova gerao por parte dos Estados Unidos, explicitou a estrutura
atrasada do Exrcito chins. Por isso o governo do pas, j na primeira metade
da dcada de 1990, no somente ampliou maciamente o oramento militar,
20. Nesse sentido, Ferdinand (2007, p. 842) lembrou que os Estados Unidos tm exercido um papel central na con-
duo da poltica externa, tanto da China como da Rssia: A poltica externa da China a partir os anos 1980, e
particularmente desde a dcada de 1990, tem sido no sentido de inseri-la na ordem mundial existente e adquirir a
reputao pela gesto do crescimento chins responsvel no mundo. Os Estados Unidos tornaram-se naquele
momento seu maior problema. Lidar com os Estados Unidos teria de ser a preocupao central da sua poltica externa.
Os lderes chineses procuraram por parceiros que pudessem ajud-los a resistir presso norte-americana. No entanto,
eles rejeitaram alianas formais, uma vez que pudessem restringir as opes da China em demasia. Como Roy resume
a relao, a China combina elementos de trs estratgias diferentes, na medida em que tenta se adaptar e lidar com
o predomnio americano: equilbrio, desao e adaptao. Desaar, no entanto, veio por ltimo, exceto sobre Taiwan.
O princpio central de funcionamento da poltica externa chinesa foi estabelecido por Deng Xiaoping como agir de
forma independente e manter a iniciativa (duli Zizhu). Assim, o governo chins estava preocupado com o gerencia-
mento do crescimento da China no mundo e no provocar os EUA, embora as crises ocasionais tenham revelado um
poderoso latente sentimento anti-EUA na opinio pblica chinesa.
214 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
mas passou a investir no estreitamento das relaes polticas e comerciais com a
Rssia, como forma de atrair tecnologia e modernizar o Exrcito (LEO, 2010).
Em virtude desses aspectos, ao longo dos anos 1990 houve um estreitamen-
to das relaes polticas e econmicas entre China e Rssia, o que motivou uma
poltica de reao dos Estados Unidos. Se este pas, por um lado, no se envolveu
diretamente nesse processo de aproximao entre China e Rssia, por outro lado,
tentou ocupar espaos deixados pela dissoluo da URSS mediante a atuao da
Otan (KUCHINS, 2007). Conforme lembrou Norling (2007, p. 36),
() o declnio econmico da Rssia coincidiu com a maior interferncia do Oci-
dente no espao das ex-URSS. Como os seis Estados que compunham a URSS
ingressaram no Conselho Europeu e na OTAN propondo a expanso dessas orga-
nizaes nessas regies, a Rssia buscou dar maior ateno crescente infuncia do
Ocidente no Leste Europeu.
Com esse evento, os movimentos separatistas islmicos presentes na
Chechnia e em Xinjiang motivaram a adoo de uma postura conjunta con-
trria interveno de naes e organismos multilaterais nos assuntos inter-
nos chineses e russos, bem como de uma poltica de boa vizinhana, na qual
no se abordavam questes divergentes, como direitos humanos e democracia
(BRKHUS; VERLAND, 2007; NORLING, 2007).
21
Todavia, com as eleies Vladimir Putin em 2000 como novo presidente
da Rssia, e com o ataque terrorista de 11 de Setembro de 2001 nos Estados
Unidos, houve uma pequena perturbao no ritmo de aproximao sino-russa.
Essa reduo se explicou no somente por opes de poltica interna, tais como o
redirecionamento da poltica externa russa
22
ou pelos imbrglios relacionados s
negociaes da venda de gs russo para a China, mas principalmente pelo apoio
russo poltica militar do governo norte-americano de George W. Bush (2001-
2009) e pelo crescimento das tenses econmicas entre China e Estados Unidos.
Por um lado, como lembrou Norling (2007, p. 36) o envolvimento da Rs-
sia na Guerra contra o Terror somado assinatura de um acordo com os Estados
Unidos permitindo a presena do Exrcito norte-americano na sia Central no
21. Enquanto chineses islmicos separatistas no forem to longe como alguns dos seus colegas russos, Pequim e
Moscou continuaro mantendo um medo comum das minorias inquietas e do Isl independente e politizado. Dada
a poltica de Pequim de no-interferncia nos assuntos internos de outros Estados, os chineses no tm criticado em
nenhum ponto Moscou pela sua guerra na Chechnia, e a guerra pouco provavelmente emergir como fonte de tenso
bilateral. A China enfrenta o Isl politizado entre os uigures em Xinjiang e Moscou no se sente desconfortvel com o
tratamento duro da China contra os uigures e outras minorias, notadamente os tibetanos. A questo de Taiwan no
um fator na relao sino-russa, ao contrrio do que ocorre nas relaes China e Estados Unidos ou China e Unio Eu-
ropia. China e Rssia no iro criticar uns aos outros pelos seus histricos em temas como democracia representativa,
liberdade individual ou direitos humanos (BRKHUS; VERLAND, 2007, p. 55).
22. A poltica externa russa, no incio do governo de Putin, desviou suas atenes para o Ocidente, bem como buscou
aumentar sua presena na sia Central e na regio do Cucaso reas de grande interesse chins (FERDINAND, 2007;
NORLING, 2007).
215 A Ascenso Chinesa e a Nova Geopoltica e Geoeconomia das Relaes Sino-Russas
foram bem vistos por Pequim. Por outro lado, como j destacado, nesse mesmo
perodo consolidou-se um acirramento dos confitos comerciais e fnanceiros, o
que provocou um aumento das presses norte-americanas sobre a forma de con-
duo das polticas chinesas, a despeito da grande complementaridade econmica
existente entre os dois pases.
Nesse sentido, notou-se uma gradual aproximao entre Estados Unidos e
Rssia e um distanciamento entre este ltimo pas e a China. Como resultado
direto desse movimento, estabeleceu-se um engajamento de iniciativas milita-
res entre Rssia e Estados Unidos, entre as quais destacaram-se: a permisso do
governo russo para entrada da Otan nos Estados Blticos (Litunia, Letnia e
Estnia); o acordo entre Estados Unidos e Rssia para remoo do Tratado Anti-
msseis Balsticos (Anti-Ballistic Missile Treaty ABMT); e o aceite para que as
foras militares norte-americanas ingressassem na Gergia. Assim, como durante
a Guerra Fria as relaes sino-russas foram desfavorecidas pela aproximao entre
China e Estados Unidos, no ps-Guerra Fria elas seriam desaquecidas embora
no interrompidas pela aproximao, dessa vez, entre Rssia e Estados Unidos.
Alm disso, no plano econmico, observou-se um aumento dos desequilbrios do
balano de pagamentos internacionais, motivados tanto pela crescente posio
devedora dos Estados Unidos, dado o aumento do consumo do seu mercado
interno, como pela posio credora da China, graas ao acmulo cada vez maior
de supervits em transaes correntes (CUNHA et al., 2006).
Contudo, como constatou Ferdinand (2007), a partir de 2003, quando Hu
Jintao assumiu o posto de secretrio geral do PCC, houve uma retomada dos avanos
na relao entre a China e a Rssia. A reaproximao desse perodo, a exemplo dos
anos 1990, no respondeu apenas a uma reverso das polticas externas de Hu Jintao
e Vladimir Putin, mas tambm a algumas transformaes no cenrio geopoltico, im-
pulsionadas particularmente pelos norte-americanos. Em primeiro lugar, observou-se
um grande suporte dos Estados Unidos na realizao das Revolues Coloridas nas
antigas repblicas soviticas,
23
passando a ameaar a capacidade de infuncia russa
nessas regies. Em segundo lugar, a entrada dos Estados Unidos no Iraque, por meio
da Operao de Liberdade Iraquiana (Operation Iraqi Freedom), no foi aprovada
pelos lderes chineses e russos, dadas suas polticas de no interveno nos sistemas
polticos de outros pases. Em terceiro lugar, a grande infuncia exercida pelos
Estados Unidos em Taiwan e na Coreia do Sul continuou interrompendo a ca-
pacidade da China de expandir sua zona de infuncia na sia. Em quarto lugar, a
cooperao militar entre Estados Unidos e ndia foi vista pelo governo russo e chins
como uma retrica norte-americana para expandir sua presena militar na sia.
23. Ortega (2007) mostra, por exemplo, a participao direta dos Estados Unidos na Revoluo das Rosas de 2003
ocorrida na Gergia e na Revoluo Laranja de 2004 ocorrida na Ucrnia.
216 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
Em que pese a importncia dos fatores externos, essa reaproximao respon-
deu tambm acelerao do processo de industrializao chinesa, que demandou
uma quantidade crescente de bens energticos da Rssia e ampliou a oferta de
produtos manufaturados menos elaborados (como intensivos em trabalho) e mais
complexos (como intensivos em tecnologia) para o mercado russo. Todavia, isso
somente foi possvel com a recuperao da economia do setor de commodities
russo que, alm de permitir a ampliao das exportaes de petrleo e gs, deu
a possibilidade de o pas aumentar suas importaes de bens industrializados.
Segundo Schutte (2010), ao lado da recuperao do preo de petrleo, a maior
atuao do Estado russo na defnio dos rumos para o setor de commodities por
meio da reviso da poltica fscal
24
e do controle das empresas de petrleo e gs foi
fundamental para essa recuperao do setor (subseo 3.2).
A diversifcao da indstria chinesa e a expanso dos investimentos no setor
produtivo, a partir da modernizao das empresas estatais, bem como do fortaleci-
mento e da ampliao de centros nacionais de tecnologia,
25
fzeram com que o pas
ingressasse em novos mercados de exportadores tanto intensivos em trabalho
como os de maior contedo tecnolgico e aumentasse exponencialmente a ne-
cessidade de insumos energticos. Alm disso, o maior peso geopoltico adquirido
pela China nos ltimos anos, com a necessidade de encarar maiores confitos em
questes territoriais e polticas explicitadas anteriormente , fomentou uma nova
estratgia do setor militar chins para aumentar sua articulao com a Rssia.
Todos esses aspectos, sejam eles da tica das polticas e economias nacionais,
sejam da esfera geopoltica e geoeconmica, determinaram o perfl de articulao
entre as economias da China e da Rssia. A materializao desse perfl pde ser
confrmada, entre outros aspectos, no padro de comrcio exterior estabelecido
entre os dois pases.
24. Para aumentar a capacidade de arrecadao foi introduzida uma tarifa nica de imposto de renda de 13%.
Ao mesmo tempo, tentou-se captar parcela maior da renda petrolfera. (...) as empresas usavam vrias formas de
evaso scal, entre as quais preos de transferncia, sobretudo transferindo para downstream comrcio e transporte.
(...) Em resposta, o governo alterou vrias vezes o sistema de impostos e, a partir de 2004, a principal forma de
tributar petrleo e gs foram os impostos sobre a extrao e a exportao. O novo regime de tributao era melhor
por ser independente do clculo do lucro ou custos em rublos, relacionado a quantidades e preos para exportao
(SCHUTTE, 2010, p. 21).
25. As modicaes promovidas pelo governo chins nesses setores ocorreram por intermdio da abertura do mercado
interno para o capital estrangeiro e de inovaes estruturais e institucionais da indstria nacional, em um movimento
capitaneado pelas instituies estatais. Por um lado, a articulao da indstria chinesa com as empresas estrangeiras,
mediante a atrao de IDE, permitiu o upgrade tecnolgico e o fortalecimento da base exportadora nacional, em razo
da forte regulao imposta pelo Estado chins. O objetivo foi acelerar o desenvolvimento tecnolgico e as exporta-
es, assim como internalizar as inovaes e estruturas de exportaes das empresas estrangeiras. Esses movimentos,
inseridos em um contexto de aproximao da China com os Estados Unidos e com os pases desenvolvidos da sia,
impulsionaram o desenvolvimento das empresas nacionais. Por outro lado, o governo tambm iniciou um processo de
abertura da indstria nacional e introduziu reformas institucionais que aumentaram a competitividade e a liberdade
de atuao das empresas e instituies de pesquisa estatais. Alm disso, o Estado coordenou as reformas dos setores
industrial e de tecnologia, o que, juntamente com a entrada do capital estrangeiro, deu s empresas estatais a condi-
o de comandar o desenvolvimento do complexo tecnolgico e industrial, fazendo que essas empresas se tornassem
lderes em vrios segmentos da estrutura produtiva global (LEO, 2010).
217 A Ascenso Chinesa e a Nova Geopoltica e Geoeconomia das Relaes Sino-Russas
TABELA 2
Pauta das exportaes chinesas para Rssia por intensidade tecnolgica 1995-2009
(Em %)
Petrleo, commodities
e insumos energticos
Trabalho
e recursos
naturais
Baixa intensidade Mdia intensidade Alta intensidade No classicados
1995 30,6 56,8 1,6 5,8 4,4 0,8
1996 28,6 58,0 1,7 6,5 3,7 1,5
1997 21,4 65,4 1,4 6,0 3,9 1,8
1998 21,2 67,6 1,2 4,6 3,8 1,7
1999 16,0 68,6 1,1 6,7 5,8 1,9
2000 10,4 72,5 1,7 7,9 5,1 2,4
2001 10,9 69,3 2,0 9,8 6,1 1,9
2002 13,5 61,7 2,8 11,2 9,2 1,6
2003 10,1 64,0 3,0 11,3 10,3 1,3
2004 7,3 65,9 4,2 12,7 9,0 1,1
2005 6,5 62,3 4,8 15,2 10,2 1,0
2006 7,0 48,6 7,8 22,3 13,0 1,2
2007 5,4 48,6 9,0 25,3 10,9 0,9
2008 5,8 37,8 11,6 31,0 12,6 1,2
2009 7,7 40,4 9,1 25,2 15,9 1,7
Fonte: Unctad (2010).
Elaborao dos autores.
Como aponta a tabela 2, a pauta de exportao da China para a Rssia tem
apresentando elevada diversifcao com participao crescente dos setores mais
intensivos em tecnologia. Enquanto em 1995 cerca de 77% das exportaes chi-
nesas estavam concentradas em petrleo, commodities e outros insumos energticos,
26
bem como em bens intensivos em trabalho e recursos naturais, em 2009 os setores
de alta e mdia intensidade tecnolgica j eram responsveis 41% dessas exporta-
es. Esse desempenho foi explicado principalmente pelo setor de alta intensida-
de tecnolgica destacando-se mquinas automticas de processamento de dados,
instrumentos ticos e equipamentos de telecomunicao que representavam
cerca de 60% das exportaes de alta intensidade tecnolgica da China para o
mercado russo em 2009.
27
Apesar dessa mudana, que ganhou fora entre 2005
e 2006 quando as exportaes nesses dois setores saltaram de 25,4% para 35,5%,
26. O nome completo desta categoria commodities e petrleo e outros insumos de energia. No texto, utiliza-se o
termo commodities e petrleo.
27. Apenas nos ltimos quatro anos da srie (2006-2009), as exportaes desses trs setores se expandiram em 69%,
o que signicou um incremento da ordem de US$ 685,9 mil um salto de US$ 989 mil em 2006 para US$ 1,6 milho.
Nesse cenrio, destacaram-se os setores de instrumentos ticos e equipamentos de telecomunicao que, embora
tivessem um peso menor nesse volume exportado, tiveram um crescimento de 731% e 207%, respectivamente.
218 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
as vendas de petrleo e commodities e de produtos intensivos em trabalho e recursos
naturais representavam, em 2009, um pouco mais de 48%.
TABELA 3
Pauta das importaes chinesas oriundas da Rssia por intensidade tecnolgica
1995-2009
(Em %)
Petrleo, commodities
e insumos energticos
Trabalho
e recursos
naturais
Baixa intensidade Mdia intensidade Alta intensidade
No
classicados
1995 27,7 1,1 21,2 45,5 4,5 0,1
1996 20,8 1,3 26,0 33,2 15,9 2,8
1997 29,5 1,9 19,7 34,7 4,8 9,4
1998 28,7 2,5 16,6 34,5 14,9 2,9
1999 40,6 2,2 16,4 26,1 13,8 0,8
2000 55,0 2,6 14,2 21,4 5,4 1,4
2001 36,8 1,7 14,2 23,5 22,1 1,8
2002 46,7 1,6 11,9 24,8 14,6 0,5
2003 52,0 1,5 17,8 20,4 7,7 0,5
2004 65,9 1,3 10,7 16,4 5,6 0,1
2005 71,4 1,0 10,3 13,7 3,5 0,1
2006 82,9 0,8 2,6 11,6 2,1 0,0
2007 83,0 0,8 1,8 12,2 2,1 0,0
2008 82,7 0,7 1,9 12,4 2,3 0,0
2009 79,4 0,7 7,8 9,7 2,4 0,0
Fonte: Unctad (2010).
Elaborao dos autores.
Diferentemente das exportaes, as importaes chinesas oriundas da Rssia,
que apresentavam nos anos 1990 um elevado grau de diversifcao, tm se concen-
trado fortemente em petrleo e commodities. Em 1995, trs setores tinham partici-
pao signifcativa, a saber: produtos de baixa intensidade tecnolgica com 21,2%,
petrleo e commodities com 27,7% e produtos de mdia intensidade tecnolgica com
45,5%. Todavia, no incio do decnio seguinte, o peso do setor de petrleo e com-
modities aumentou signifcativamente, representando em 2003 mais da metade das
vendas de bens russos para a China. Esse movimento se intensifcou ao longo dos
anos 2000, uma vez que, em 2009, quase 80% das importaes chinesas da Rssia
eram de petrleo e commodities.
Em suma, observou-se que as exportaes chinesas em direo Rssia tm
se concentrado nos produtos mais complexos e de maior valor agregado, enquanto
as importaes tm se especializado em petrleo e commodities, que em geral so
produtos bastante padronizados e que possuem menor valor adicionado. Todavia,
o extraordinrio crescimento da demanda chinesa por bens intensivos em energia
219 A Ascenso Chinesa e a Nova Geopoltica e Geoeconomia das Relaes Sino-Russas
impulsionou um aumento do seu quantum importado muito superior ao quantum
exportado. Isso fez com que, na maior parte do tempo, a balana comercial entre
os dois pases fosse signifcativamente favorvel Rssia. Somente depois de 2006,
houve uma reverso desse cenrio, ou seja, a China passou a acumular supervits
com a Rssia, apesar da infexo sofrida em 2009 resultante dos efeitos da crise
fnanceira que reduziu a capacidade de importar da Rssia (grfco 1).
GRFICO 1
Balana comercial da China com a Rssia 1995-2009
(Em US$ milhes)
-6.000
0
6.000
12.000
18.000
24.000
30.000
36.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Saldo Importaes Exportaes
Fonte: Unctad (2010).
Elaborao dos autores.
Alm do crescimento das exportaes de bens ligados ao setor de energia, a
Rssia viu suas exportaes de armas para a China crescerem aceleradamente nos
anos 2000. Se at 1999 a aquisio de armas russas pela China no havia superado o
valor de US$ 2 bilhes, entre 2000 e 2006 esse valor, em mdia, saltou para US$ 2,8
bilhes, com destaque para o ltimo ano quando a China importou US$ 3,5 bilhes
de armas (grfco 2).
28
Essa reduo observada em 2007 e 2008 signifcou, de um
28. Alm da venda de armas, a China adquiriu um arsenal relativamente diversicado de equipamentos militares nesse
perodo: De acordo com o Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), a China recebeu 39% de todas as
principais armas convencionais, por exemplo, porta-avies, submarinos, msseis lanados de navios e aervonaves-tanque, de
transporte e de ataque de longo alcance, mas no armas de pequeno porte e armamento leve vendidos para compradores
estrangeiros durante a histria de 17 anos da Federao Russa. Por meio destas negociaes, a Marinha e a Fora Area chi-
nesa adquiriram dezenas de avies de combate Su-27 Flanker e caas multi-funo Su-30 Flanker otimizado para operaes
antinavio; helicpteros de transporte Mi-17; avies de transporte militar Il-76; avies-tanque de reabastecimento IL -78M
Midas; avies de aviso e de controle A-50; tanques de batalha principal T-72; helicpteros Mi-8 e Mi-17; transportadores
blindados de pessoal; submarinos a diesel Project 636 (classe Kilo); navios Destrir Sovremenny; uma variedade de msseis
antinavio, de defesa area e outros; e diversos sistemas militares convencionais avanados ou seus componentes. Entre
1998 e 2004, alm disso, os chineses produziram cerca de cem avies de guerra Su-27Sk sob licena da Rssia, usando
muitas partes russas no processo de montagem (WEITZ, 2009, p. 91). Ainda de acordo com Weitz (2009), a China no
apenas adquiriu equipamentos militares, como tambm licenciou produtos e tecnologia russa para o mercado interno.
220 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
lado, a priorizao da China por uma articulao com o setor militar russo mediante
a realizao de parcerias de transferncia tecnolgica e aquisio de outros bens (avi-
es, jatos, torpedeiros etc.) e, de outro, a inteno do governo chins de internalizar
tecnologia e desenvolver nacionalmente os equipamentos e instrumentos militares.
29
GRFICO 2
Vendas de armas da Rssia para a China 1995-2008
(Em US$ milhes)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fonte: Weitz (2009).
Com a alterao do padro do comrcio internacional, o crescimento dos
investimentos diretos da China na Rssia tambm apontou para uma mudana
no padro de relao externa entre os dois pases. Como apontam os dados do
grfco 3, entre 2003 e 2007, os fuxos de investimento se expandiram mais de 15
vezes, subindo de apenas US$ 30,6 milhes para US$ 477, 6 milhes. A despeito
da queda recente, em 2009 os fuxos de investimento direto da China enviados
Rssia permaneceram muito superiores ao verifcado em 2003 US$ 348,2
milhes versus US$ 30,6 milhes.
29. Desde 2005, a China no pediu adicionais navios ou avies de guerra russos ou assinou quaisquer novos contratos
de venda de armas multibilionrios. Por exemplo, a Marinha do Exrcito de Libertao Popular (PLAN sigla em ingls)
acabou com as esperanas da Rssia e se recusou a comprar mais avies de caa Su-30MK2 aps receber os primeiros
24 avies em 2004. As aspiraes russas de vender para a China mais sistemas avanados de defesa area tambm
no se concretizaram. Com exceo das compras contnuas de Pequim de helicpteros de ataque/transporte Mil Mi-17,
as recentes transferncias de armas russas simplesmente envolvem o cumprimento de contratos passados ou compras
limitadas de upgrades e tecnologia especializada (tais como motores de avio), onde fabricantes russos mantm uma
clara vantagem. No incio de 2009, por exemplo, a China concordou em comprar mais de 100 motores para seu caa
J-10. Em sua 13
a
sesso da Comisso sino-russa sobre cooperao tcnico-militar, que se reuniu em Pequim em dezem-
bro de 2008, os dois governos decidiram que tentariam desenvolver conjuntamente novos produtos militares, o que no
resultaria necessariamente em vendas adicionais de armas russas para a China (WEITZ, 2009, p. 98-99).
221 A Ascenso Chinesa e a Nova Geopoltica e Geoeconomia das Relaes Sino-Russas
GRFICO 3
Investimento direto chins na Rssia 2003-2009
(Em US$ milhes)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fonte: Ceic Data.
Esses resultados se deveram, em grande medida, aos acordos nas reas de
energia e commodities. Em 2006, por exemplo, a China assinou um acordo com a
Rssia para investir um total de US$ 1 bilho nos anos seguintes em dez projetos
diferentes. Esses projetos estavam direcionados para os setores de silvicultura, mi-
nerao e energia, infraestrutura urbana, automveis, agricultura e txtil (CHINA
DAILY, 2006). No mesmo ano, a China National Petroleum Corporation (CNPC)
adquiriu US$ 500 milhes em aes do grupo russo Rosneft, a Sinopec adquiriu
um estoque de aes da Udmurtneft no valor de US$ 3,5 bilhes e essa mesma
empresa formou uma joint venture com a Rosneft para a produo de petrleo no
extremo leste da Rssia (KROSKA; KORNIYENKO, 2008). Mais importante que
esses investimentos foi a concesso de crdito dos bancos pblicos chineses para
fnanciar esses setor da economia russa. Em 2010, a Rssia se comprometeu a ex-
portar nos prximos 25 anos cerca 475 milhes de toneladas de carvo para China.
Em contrapartida, o governo chins disponibilizou US$ 6 bilhes para o fnancia-
mento de projetos de longo prazo em carvo e construo de infraestrutura de trans-
porte (RUSSIA INKS USD6... , 2010). Tambm nesse ano, a China Development
Bank concedeu US$ 25 bilhes de crdito para as empresas russas Rosneft e Trans-
neft de modo a garantir o suprimento de 300 mil barris de petrleo cru por dia.
O crescimento do volume de crdito e investimentos da China para a Rssia
no setor de commodities e energia, bem como a especializao das exportaes rus-
sas para o mercado chins neste mesmo setor, refetiu em um estreitamento dos
acordos e parcerias realizadas pelos dois pases nesses setores, como observado
na prxima seo.
222 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
4 A PARCERIA ESTRATGICA ENTRE CHINA E RSSIA
Nesse comeo de sculo XXI, a importncia da parceria estratgica entre China e
Rssia foi um dos mais importantes acontecimentos geopolticos e geoeconmi-
cos. Se a viabilidade dessa relao se apresentou no estreitamento da cooperao
militar, seus empecilhos se evidenciaram na problemtica busca pela segurana
energtica, revelando, uma vez mais, a necessidade e a difculdade para a aproxi-
mao entre esses dois grandes pases.
Por um lado, no que se refere cooperao militar, houve uma aproximao
crescente entre China e Rssia. A criao da Organizao para Cooperao de
Xangai (Shanghai Cooperation Organization SCO), em 2001, e a atuao em
operaes militares conjuntas explicitaram o desejo de se criar uma organizao de
poder regional e global que atue como contraponto aos Estados Unidos e Otan.
Por outro lado, no que se refere segurana energtica, enquanto a China tem se
tornado um dos maiores importadores de hidrocarbonetos do mundo, a Rssia apre-
sentou um crescente potencial de exportao de petrleo e gs. Entretanto, por trs da
imediata complementaridade, escondem-se tenses indiretas e com desdobramentos
de longo prazo. China e Rssia assim como Estados Unidos e ndia disputam, por
exemplo, acesso e participao privilegiada, via construo de oleodutos alternativos,
nas reservas do Mar Cspio. Alm disso, a estratgia de segurana energtica russa
levou em considerao a intensifcao das exportaes do petrleo para a Alemanha,
consagrando o pas como ncleo irradiador da poltica macroeconmica e da poltica
externa europeia, o que no tem agradado completamente aos Estados Unidos; alm
da intensifcao das exportaes do petrleo, tambm, para a ndia, o que, dessa vez,
no foi bem visto pelos chineses, j que ndia e China alm de serem dois grandes
demandantes que concorrem por energia e alimentos, mantm desavenas territoriais
no Tibete e no Nepal. Esses pontos de aproximao e afastamento entre China e Rs-
sia so fundamentais para elucidar a relao entre os dois pases, e lanam luz sobre
questes relativas arena militar e energtica internacional.
4.1 A geopoltica da cooperao militar entre China e Rssia
A reaproximao militar entre China e Rssia teve incio ainda durante a dcada
de 1980. Quando o governo Reagan passou a oferecer ajuda militar a Taiwan e
o governo de Mikhail Gorbachev passou a defender a desmilitarizao da sia,
estava dado o sinal para que a China preocupada com a presena blica em seu
entorno se tornasse mais simptica ao projeto russo.
Alm disso, quando os Estados Unidos censuraram publicamente os acon-
tecimentos da Praa da Paz Celestial (1989), cancelando o Programa Peace Pearl,
que objetivava auxiliar na modernizao das foras armadas chinesas, e quando no
mesmo ano a Rssia anunciou a retirada das tropas soviticas do Afeganisto, do
223 A Ascenso Chinesa e a Nova Geopoltica e Geoeconomia das Relaes Sino-Russas
Vietn e da Monglia, a simpatia ao projeto russo comeou a tornar-se efetiva-
mente uma estratgia de reaproximao. Com o fm da Guerra Fria tanto a China
como a Rssia procuraram criar mecanismos para a ampliao de seu poder e
infuncia internacional. Entretanto, a hegemonia norte-americana emergiu como
um impedimento para as pretenses geopolticas e geoeconmicas dos dois pases.
A poltica norte-americana de conteno da Rssia tornou-se evidente dian-
te do apoio dos Estados Unidos independncia dos pases que compunham o
antigo territrio sovitico, iniciando por pases como Letnia, Estnia, Litunia,
e depois por Ucrnia, Bielo-Rssia, Blcs, Cucaso e pases da sia Central.
Nesse perodo os Estados Unidos tambm lideraram a expanso da OTAN, na di-
reo do leste, contra a opinio de alguns pases europeus. E mais recentemente os
Estados Unidos e a Unio Europia apoiaram a independncia do Kosovo, acele-
raram a instalao de seu escudo antimsseis na Europa Central, e esto armando
e treinando as foras armadas da Ucrnia, da Gergia e dos pases da sia Central,
sem levar em conta que a maior parte desses pases pertenceu ao territrio russo,
durante os ltimos trs sculos (FIORI, 2008, p. 46-47).
Diante da importncia crescente da economia chinesa e de sua simbiose
com a prpria economia norte-americana, a estratgia de conteno dos Estados
Unidos para a China pareceu ser mais velada. A sia foi, nesse incio do sculo
XXI, o palco em que ocorreu uma das mais intricadas disputas pela hegemonia
regional, envolvendo alm da China e da Rssia, o Japo, a Coreia do Sul, a
ndia e os prprios Estados Unidos. Foi intervindo nessa trama complexa que os
Estados Unidos buscaram contornar o avano chins, mediante a manuteno
do apoio militar permanente ao Japo, do abastecimento blico das foras ar-
madas de Taiwan e da Coreia do Sul e do empreendimento de operaes navais
conjuntas com Cingapura. Alm disso, o apoio econmico e militar sistemtico
ndia serviu como alerta para os chineses, j que ndia e China mantiveram
desconfanas mtuas relacionadas a contenciosos no Tibete e Nepal e, como se
trata de duas economias em crescimento, elas tenderam a concorrer por insumos
nos mercados de energia e alimentos.
Por fm, a doutrina Bush de guerra contra o terrorismo e de ataques preven-
tivos justifcou a presena norte-americana na sia Central e no Oriente Mdio,
regies de grande interesse tanto para a Rssia quanto para a China.
Nos ltimos anos, assim como a Rssia permaneceu se recuperando das
perdas causadas por sua derrota na Guerra Fria, a China restringiu sua disputa
por hegemonia regio do Leste Asitico e s proximidades do Pacfco; ambas
circunscreveram seus interesses militares dentro de sua zona territorial e regio-
nal de infuncia. Isso no impediu, no entanto, o estreitamento de relaes
estratgicas militares entre as duas naes. Em 1991, a pouca efcincia do
224 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
arsenal blico da China tornou-se evidente durante a Guerra do Golfo (1991).
Nesse confito o Iraque utilizava alguns materiais de procedncia chinesa que
tiveram desempenho sofrvel. A fm de contornar tal problema, nesse mesmo
ano, o secretrio-geral do PCC, Jiang Zemin (1993-2003), visitou a Rssia e
anunciou a compra de equipamentos e armas capazes de restaurar a aeronuti-
ca chinesa, alm de ter assinado o Acordo de Fronteiras Sino-Russas, encerran-
do a maior parte dos contenciosos territoriais entre os dois pases.
Em 1996, China e Rssia assinaram um conjunto de acordos de coope-
rao militar:
() para a Rssia essa cooperao de fundamental importncia porque o setor
de defesa poderia ajudar fortemente na recuperao econmica do pas que sofreu
grande impacto com a queda do Muro de Berlim (...). E para que a China conse-
guisse maior proeminncia na regio sia-Pacfco, seria necessrio modernizar a
sua frota de aeronaves e navios (TSAI, 2003, p. 54),
sem a qual, a propsito, ela no consegue proteger e ampliar suas importantes
rotas de exportao.
O perodo entre 1991 e 2001 foi importante para a recuperao do com-
plexo industrial-militar russo e para a modernizao da indstria militar chinesa.
Nesse perodo, a porcentagem do oramento chins para compra de equipamen-
tos passou de 16% para 34%, e o progressivo desenvolvimento da indstria de
defesa foi benefciado pela tecnologia russa, assim como pelas tcnicas israelenses
(CHIEN-MIN; DICKISON, 2001).
Em 2001, os dois pases participaram de manobras militares conjuntas, assi-
naram o Tratado de Boa Vizinhana e Cooperao Amistosa, prevendo uma aliana
estratgica de pelo menos duas dcadas, e criaram a Organizao para a Cooperao
de Xangai, tendo como membros permanentes, alm de China e Rssia, Cazaquisto,
Quirguisto, Tadjiquisto e Uzbequisto, alm de terem como membros observadores
Monglia, ndia, Ir e Paquisto. A SCO tem como objetivo o combate a problemas
transnacionais de segurana, tais como o terrorismo, o trfco de drogas e o funda-
mentalismo, assim como a questo do separatismo nas provncias chinesas do Tibete
e Xinjiang (MORAES, 2010, p. 41). Em ltima instncia, sua fnalidade ser um
contrapeso aos Estados Unidos e s foras militares da OTAN (FIORI, 2008, p. 51).
Do ponto de vista russo, a cooperao poltico-militar no mbito da SCO foi
favorvel pois i) criou um lao de compromisso com a potncia emergente chinesa;
ii) gerou condies para que no houvessem fortes instabilidades na sia Central;
e iii) com isso a Rssia pde se preocupar mais intensamente com sua tradicional
estratgia de preponderncia sobre a Eursia, estreitando relaes, por exemplo,
com a Alemanha, uma das principais compradoras do petrleo e gs russo.
225 A Ascenso Chinesa e a Nova Geopoltica e Geoeconomia das Relaes Sino-Russas
Na perspectiva chinesa, a cooperao foi importante, pois i) signifcou uma
reformulao de sua insero regional, na medida em que ela passa a ser conside-
rada uma liderana local legtima para seus vizinhos; e ii) permitiu a aliana com
pases de vasta extenso territorial, grandes populaes, potencial nuclear, alm
de reservas de petrleo e gs.
4.2 A geoeconomia da segurana energtica entre China e Rssia
A exemplo da aproximao militar entre os dois pases, as decises tomadas na
arena das estratgias de segurana energtica foram motivadas pela crescente apro-
ximao chinesa. Se para a Rssia o setor energtico esteve diretamente ligado
reestruturao do seu Estado nacional na ltima dcada, para a China, esse setor
tem sido de fundamental importncia para a manuteno de seu crescimento
baseado na exportao de bens industrializados.
Nesse sentido, por um lado, houve uma clara complementaridade entre
o mercado produtor de petrleo e gs russo e o mercado consumidor chins.
Mas, por outro lado, ocorreu tambm uma preocupao mtua com relao
criao de uma dependncia excessiva entre os dois pases principalmente da
Rssia para com a China. Este pas traz a possibilidade de que a Rssia torne-se
apenas uma grande produtora de commodities, o que contraria o projeto russo
de reconstruo da economia nacional. A China, por sua vez, preocupa-se com
o fato de tornar-se refm da energia externa, o que contraria o projeto chins de
busca crescente pela autonomia nacional.
Como lembra Schutte (2010, p. 7), a Rssia o maior exportador de ener-
gia e, em alguns momentos da histria, foi o maior produtor de petrleo. O pas
detm a maior reserva de gs e a stima maior reserva de petrleo, e, do ponto
de vista geogrfco, vale lembrar: o pas situa-se entre dois grandes mercados con-
sumidores de energia: a Europa e a sia. Mais ainda, a Rssia controla a rede de
oleodutos e gasodutos dos quatro grandes produtores de energia do mar Cspio:
Azerbaijo, Cazaquisto, Turcomenisto e Uzbequisto.
Entretanto, a utilizao estratgica desse potencial energtico s muito
recentemente tem sido reativada pelo pas. Com o fm da URSS, a desestrutu-
rao econmica da Rssia impactou intensamente o setor energtico; a opo
por uma transio brusca em direo ao capitalismo implicou na transformao
do Ministrio de Petrleo e Energia do pas em uma empresa chamada Rosneft.
Ao longo da dcada de 1990, essa empresa sofreu uma srie de desmembra-
mentos e divises facilitando a privatizao de grandes campos petrolferos e
refnarias russas. As maiores e mais rentveis empresas foram negociadas em
processos de barganha envolvendo ex-altos funcionrios do governo, grandes
banqueiros que haviam enriquecido durante a abertura econmica realizada por
226 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
Gorbachev e chefes do mercado clandestino envolvidos em atividades ilcitas.
Segundo Goldman (2008, p. 63), tratou-se da maior e mais controversa trans-
ferncia de riqueza j vista na histria.
A queda no preo do petrleo em meados dos anos 1990 e a crise russa no
fm da dcada explicitaram as fragilidades do novo modelo privado de gesto do
setor energtico. O governo Putin tomou para si a tarefa de reconstruir o Estado
e a economia russa, por meio de uma reavaliao da relao entre interveno
estatal e mercado, de modo que [a] experincia russa entre 1992 e 2004 abre
uma nova perspectiva de liberalizao e privatizao. O auge das polticas liberais
e de privatizao na dcada de 1990 coincidiu com a grande contrao do PIB
e sua reverso parcial entre 1999 e 2004 ocorreu concomitantemente parcial
recuperao econmica (ELLMAN, 2006, p. 102).
Como lembrou Schutte (2010, p. 21):
(...) ao longo do governo Putin fcou claro que ele no acreditava que o funciona-
mento do livre mercado e a atuao das empresas privadas iriam automaticamente
coincidir com a defesa do interesse nacional. Trata-se, de certa forma, de uma viso
de mundo. Putin fez doutorado no Instituto de Minerao de So Petesburgo,
em junho de 1997, no qual defendeu a necessidade de a Rssia voltar a exercer
infuncia poltica e econmica. Isso implicaria a retomada do controle sobre os re-
cursos naturais do pas e creating the most efective and competitive companies on
both the domestic and world markets. Em defesa do interesse nacional national
champions would put promotion of states interest over proft maximization (cita-
es da tese de Putin). Aqui est a idia do campeo nacional: misturar interesses
do setor privado com interesses do Estados e, se necessrio, moderar a busca de lu-
cros em defesa de interesses geopolticos. A presena externa parte dessa poltica.
As campes nacionais deveriam ser integradas em conglomerados industriais com
capacidade de competir com as multinacionais ocidentais.
Entretanto, a recuperao do setor energtico com a forte presena do Esta-
do no pde ser tratada como uma mera reestatizao, j que as empresas privadas
que no afrontaram as metas do governo e buscaram insero internacional obti-
veram apoio estatal para se tornarem conglomerados ainda maiores. Do mesmo
modo, esse processo no pde ser visto como uma simples renacionalizao, pois
a poltica de coordenao e planejamento estatal no excluiu a participao de
empresas multinacionais.
Parte importante da estratgia de reestruturao do setor energtico russo
tem se concentrado na tentativa de diversifcar o mercado consumidor de petr-
leo e gs. Tradicionalmente, a Rssia se caracterizou como grande fornecedora
de petrleo e gs para a Europa, principalmente para a Alemanha sua principal
parceira comercial , mas como ressaltado atualmente, o pas tem procurado novos
mercados, principalmente na China, no Japo, na Coreia do Sul, na ndia e nos
227 A Ascenso Chinesa e a Nova Geopoltica e Geoeconomia das Relaes Sino-Russas
Estados Unidos. Nesse sentido, os governos Putin e Medvedev assumiram como
objetivo a estratgia de maximizao das exportaes de petrleo e gs, o que colo-
ca a China no arco de interesses prioritrios da Rssia, dada a crescente demanda
chinesa por energia, e o compartilhamento de uma grande fronteira sem obstcu-
los geogrfcos que possam perturbar a integrao energtica dos dois pases.
No entanto, a poltica energtica chinesa tem como um de seus objetivos
fortalecer as grandes empresas nacionais do setor para que elas possam se interna-
cionalizar e se transformar em instrumentos da prpria poltica externa do pas.
Da a proteo estatal de que desfrutam empresas como a Sinopec, a Petrochina e a
Cnooc, CNPC, de modo que diversos contratos energticos celebrados pela China
no puderam ser compreendidos apenas pela racionalidade econmica, e sim por
razes de Estado que levaram o pas a ora se aproximar, ora se afastar da Rssia,
como exemplifcou Stelzer apud Souza (2009, p. 206): quando a Sinopec concor-
dou em investir 300 milhes de dlares para desenvolver reservas de gs natural
na Arbia Saudita, o contrato ignorou os altos riscos e o baixo retorno potencial.
Do mesmo modo, as incertezas recentes com relao s movimentaes
polticas e militares no Oriente Mdio tm feito com que a China estreitasse
laos com a Rssia. Em outubro de 2010 o encontro do presidente Medvedev
e do secretrio geral do PCC, Hu Jintao em Pequim abriu as portas para um
acordo de cooperao econmica e energtica que incluiu uma associao entre
a russa Gazprom e a chinesa CNPC para a ampliao da venda de gs russo para
a China. Alm disso, a CNPC assinou um contrato com a russa OAO Rosneft
para a construo de uma refnaria na cidade de Tianjin, e os dois presidentes
participaram do ato de inaugurao do oleoduto Sibria Pacfco, que deve
entrar em funcionamento ainda em 2011.
Enquanto alguns analistas acreditam que a soluo energtica para a China
encontra-se na Rssia, dada a proximidade geogrfca, a complementaridade econ-
mica e a recente aproximao mtua, em um primeiro instante, favorvel s estrat-
gias de construo nacional e insero internacional dos dois pases (SCHOICHI;
IVANOV; DAOJIONG, 2005, p. 121-142), outros analistas ponderam que essa
aproximao pode trazer consigo uma excessiva dependncia que, no mdio prazo,
pode se converter em um impasse para o desenvolvimento nacional de ambos, alm
de que tais interpretaes consideram que a parceria criada na ltima dcada mais
um intervalo em uma longa histria de desconfanas do que uma alterao substan-
tiva nas relaes internacionais sino-russas (LUKIN, 2003).
difcil avaliar se a atual aproximao entre os dois pases ser duradoura ou
efmera, mas seja qual for a resposta ela no deve ofuscar a importncia da coope-
rao energtica que se tem criado nos ltimos anos. certo tambm que no longo
prazo tal associao pode trazer tenses para a relao entre os dois pases, mas isso
228 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
no deve apagar a complementaridade atual que se tem formado entre os projetos
de desenvolvimento nacional e de insero internacional entre China e Rssia.
O mais provvel, alis, que o sucesso ou o fracasso dessa aliana esteja as-
sociado a efeitos colaterais relativos ao impacto que ela pode causar no tabuleiro
asitico. Como j foi dito, as difculdades da China em obter suprimentos confveis
de energia tm levado o pas a adotar uma poltica pendular: quando as obstrues
patrocinadas pela Rssia na sia Central difcultaram o acesso aos hidrocarbone-
tos, a China voltou-se para o Oriente Mdio, particularmente Arbia Saudita e Ir;
quando as tenses entre os Estados Unidos e o Oriente Mdio ressurgiram, a China
retomou a aproximao com a Rssia.
Talvez o maior impacto da doutrina Bush sobre a China nessa dcada tenha
sido fazer o pas se lembrar de que apesar do seu crescimento econmico incom-
parvel ao longo dos ltimos anos ele permaneceu dependente dos dois grandes
players da Guerra Fria: Estados Unidos e Rssia. Quando os Estados Unidos in-
vadiram o Iraque, os suprimentos de energia provenientes do Golfo Prsico para
a China estiveram ameaados, a boa vontade e a capacidade militar dos Estados
Unidos foi que garantiram o transporte dos carregamentos de energia e sua che-
gada na China. A fm de minimizar tal dependncia, a China voltou sua estratgia
para o petrleo e gs da sia Central e da Rssia, dessa vez viu-se refm dos
oleodutos e gasodutos controlados pela Rssia em toda a regio.
Se, por um lado, a China dependeu da Marinha norte-americana para o
transporte dos hidrocarbonetos do Golfo Prsico, por outro lado, ela dependeu
do exrcito russo para a manuteno de condies amistosas na regio do mar
Cspio. Nesse sentido, as questes da cooperao militar e segurana energtica se
complementaram. E, como a China j guarda intensa complementaridade econ-
mica com os Estados Unidos, compreensvel que, no que se refere associao
militar e energtica, ela busque um contraponto aproximando-se, dessa vez, da
Rssia como tem acontecido na ltima dcada.
Para alm da associao, houve tambm tenses geradas pelas relaes ener-
gticas entre China e Rssia. A estratgia chinesa da busca por mercados produto-
res diversifcados tem patrocinado a expanso das receitas de exportao de pases
como Cazaquisto e Turcomenisto, fato que tem preocupado a Rssia, dada sua
pretenso de se manter como coordenadora do setor energtico da regio. Por sua
vez, a Rssia vem seguindo uma estratgia de procurar mercados consumidores
tambm diversifcados, o que inclui, alm da China, o fornecimento de energia
para o Japo e a ndia, o que tem deixado a prpria China em alerta, dado o receio
de no conquistar sua autonomia energtica antes de seus principais competido-
res intrarregionais.
229 A Ascenso Chinesa e a Nova Geopoltica e Geoeconomia das Relaes Sino-Russas
Por todos esses motivos que, como alertou Fiori (2008, p. 67):
Nas prximas dcadas, o ncleo duro da competio geopoltica mundial dever
incluir ao lado dos Estados Unidos e da China, a Rssia, graas s suas reservas
energticas, ao seu arsenal atmico e ao tamanho do seu ressentimento nacional ou
territorial como assinalou Hans Morghentau. Um modelo composto, portanto, por
trs Estados continentais, que detm um quarto da superfcie da Terra e mais de um
tero da populao mundial.
5 CONSIDERAES FINAIS
Entre a ltima dcada do sculo XX e a primeira dcada do sculo XXI o cenrio
internacional passou por transformaes profundas. A confgurao e consolida-
o do modelo de crescimento e desenvolvimento chins, assim como a queda
da URSS e o renascimento da Rssia, so momentos decisivos dessa nova etapa
do sistema econmico e interestatal. Nesse sentido, a anlise das relaes entre
esses dois pases torna-se um ponto de vista privilegiado para analisar retrospec-
tivamente como essas transformaes vieram sendo gestadas ao longo da Guerra
Fria e, sobretudo, como elas vieram tona nesse ps-Guerra Fria trazendo novas
questes acerca do presente e do futuro do cenrio internacional.
A ascenso da China e da Rssia como novos e importantes players globais trou-
xe consigo uma srie de desafos e dilemas acerca do desenvolvimento nacional e da
insero internacional de ambas. Pois, assim como o mundo no pode avanar sem
observar o que se passa na China e na Rssia, esses dois pases no podem avanar
sem se observarem mutuamente. Desse modo, aps meio sculo de desconfanas e
hostilidades causadas pelas disputas em torno dos rumos do socialismo e pelos fertes,
ora chineses, ora russos com a economia americana, China e Rssia apresentam novas
possibilidades para a composio de alianas estratgicas, desafando o unilateralismo
americano e a disputa pela ampliao do arco de infuncia na regio eurasitica.
Essa aproximao, que se realiza tanto com complementaridades quanto
com tenses, revela-se nas questes militar e energtica. Enquanto a aproxima-
o militar por meio da Organizao para a Cooperao de Xangai, como j
foi dito, por um lado, favorece os russos, pois i) cria um lao de compromisso
com a potncia emergente chinesa; ii) gera condies para que no hajam fortes
instabilidades na sia Central, e iii) com isso a Rssia pode se preocupar mais
intensamente com sua tradicional estratgia de preponderncia sobre a Eursia,
estreitando relaes, por exemplo, com a Alemanha, uma das principais compra-
doras do petrleo e do gs russo. Por outro lado, tambm benefcia os chineses,
j que iv) a cooperao signifca uma reformulao de sua insero regional, na
medida em que ela passa a ser considerada uma liderana local legtima para seus
vizinhos; e v) permite a aliana com pases de vasta extenso territorial, grandes
populaes, potencial nuclear, alm de reservas de petrleo e gs.
230 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
Entretanto, esse ltimo ponto trs consigo, alm da complementaridade
econmica imediata entre um grande exportador de hidrocarbonetos (Rssia) e
um crescente consumidor de petrleo e gs (China), algumas nuances que podem
insinuar possveis tenses entre esses dois pases. Isso, pois, enquanto a estratgia
de diversifcao da exportao russa fortalece potenciais concorrentes chineses,
como Japo e ndia, a estratgia de diversifcao de importao chinesa fortalece
a expanso de pases contguos Rssia na sia Central.
Embora no longo prazo as estratgias chinesas e russas de desenvolvimento eco-
nmico, de expanso poltica e de ampliao do arco de infuncia regional possam
se confrontar, no curto e no mdio prazo a aliana estratgica entre os dois pases
parece ser decisiva para que eles possam avanar se auxiliando mutuamente. Nesse
incio de sculo XXI, nenhum pas pode pensar sobre questes decisivas, como a
cooperao militar e a segurana energtica, sem levar em considerao os desdobra-
mentos recentes da relao geopoltica e geoeconmica entre China e Rssia.
REFERNCIAS
BRKHUS, K. E.; VERLAND, I. A match made in heaven? Strategic
convergence between China and Russia. China and Eurasia Forum Quarterly,
v. 5, n. 2, p. 41-61, 2007.
CARDOSO DE MELLO, J. M. A contra-revoluo liberal-conservadora e a tra-
dio crtica latino-americana: um prlogo em homenagem a Celso Furtado. In:
TAVARES, M. C.; FIORI, J. L. (Org.). Poder e Dinheiro: uma economia pol-
tica da globalizao. Petrpolis: Vozes, 1997.
COMISSO DAS NAES UNIDAS SOBRE COMRCIO E DESENVOL-
VIMENTO (UNCTAD). Handbook of Statistics, 2010.
CHERNAVSKY, E.; LEO, R. P. F. A evoluo e as transformaes estruturais
do comrcio exterior chins. In: ACIOLY, L.; LEO, R. P. F. (Org.). Comrcio
internacional: aspectos tericos e as experincias indiana e chinesa. Braslia: Ipea,
2010.
CHIEN-MIN, C.; DICKSON, B. J. (Ed.). Remaking the Chinese State:
Strategies, Society, and Security. London: Routledge, 2001.
CHINA DAILY. 2006. Vrias edies. Disponvel em: <http://www.chinadaily.
com.cn/world/>.
CUNHA, A.; ACIOLY, L. China: ascenso condio de potncia global
caractersticas e implicaes. In: CARDOSO JR., J. C.; MATIJASCIC, M.;
ACIOLY, L. (Org.). Trajetrias recentes de desenvolvimento: estudos de expe-
rincias internacionais selecionadas. Braslia: Ipea, 2009.
231 A Ascenso Chinesa e a Nova Geopoltica e Geoeconomia das Relaes Sino-Russas
CUNHA, A. M. et. al. A Diplomacia do Yuan: uma anlise da estratgia de in-
ternacionalizao fnanceira da China. In: VII REUNIN DE ECONOMIA
MUNDIAL, Alicante, 2006.
ELLMAN, M. (Org.). Russias oil and natural gas: bonanza or curse? London:
Anthem Press, 2006.
FAIRBANK, J. K.; GOLDMAN, M. China: uma nova histria. Porto Alegre:
LP&M, 2006.
FERDINAND, P. Sunset, sunrise: China and Russia construct a new relationship.
International Afairs, v. 83, n. 5, p. 841-867, 2007.
FIORI, J. L. Globalizao, hegemonia e imprio. In: TAVARES, M. C.; FIORI,
J. L. (Org.). Poder e dinheiro: uma economia poltica da globalizao. Petrpolis:
Vozes, 1997.
______. Formao, expanso e limites do poder global. In: FIORI, J. L. (Org.).
O poder americano. Petrpolis: Vozes, 2004.
______. A nova geopoltica das naes e o lugar da Rssia, China, ndia, Brasil e
frica do Sul. Oikos: revista de economia heterodoxa, n. 8, ano VI, p. 77-106, 2007.
______. O sistema mundial, no incio do sculo XX. In: FIORI, J. L.; MEDEI-
ROS, C. A.; SERRANO, F. (Org.). O mito do colapso do poder americano.
Rio de Janeiro: Record, 2008.
FURTADO, C. Brasil: a construo interrompida. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1992.
FURTADO, D. A mo e a luva: a China anti-reacionria e a doutrina Nixon.
Estudos Histricos, Rio de Janeiro, v. 23, n. 46, p. 344-362, jul./dez. 2010.
GOLDMAN, M. Putin, power and the new Russia: petrostate. New York:
Oxford University Press, 2008.
HOBSBAWM, E. Era dos extremos: o breve sculo XX 1914-1991. So Paulo:
Cia. das Letras, 1995.
JACOBSON, H. K.; OKSENBERG, M. Chinas participation in the IMF, the
World Bank and GATT: toward a global economic order. Michigan: University
of Michigan Press, 1990.
KROSKA, L.; KORNIYENKO, Y. Chinas investments in Russia: where do they
go and how Important are they. China and Eurasia Forum Quarterly, v. 6,
n. 1, p. 39-49, 2008.
KUCHINS, A. Russia and China: the ambivalent embrace. Current History,
v. 106, n. 702, p. 321-327, Oct. 2007.
232 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
LEO, R. P. F. O padro de acumulao e o desenvolvimento econmico nas
ltimas trs dcadas: uma interpretao. 2010. Dissertao (Mestrado) Uni-
versidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia, Campinas, 2010.
LIEBERTHAL, K. Sino-Soviet Confict in the 1970s: Its Evolution, and
Implications for the Strategic Triangle. Estados Unidos: Ofce of the secretary
of defense, Rand Corporation, jul.1978.
LOBO, C. E. R. A Repblica Popular da China e a trajetria das suas foras
armadas. So Paulo: Grupo de Estudos da sia-Pacfco/PUC-SP, 2007. Dispo-
nvel em: <http://www.pucsp.br/geap/artigos/art3.pdf>.
LUKIN, A. Te Initial Soviet Reaction to the Events in China in 1989 and the
Prospects for Sino-Soviet Relations. Te China Quarterly, n. 125, p. 119-136,
mar. 1991.
______. Te bear watches the dragon: Russias Perceptions of China and the
Evolution of Russian-Chinese Relations since the Eighteenth Century. Armonk:
M.E. Sharpe, 2003.
______. Te bear watches the dragon: Russias perceptions of China and
evolution of Russia Chinese relations since the 18 century. Armonk, NY:
Mesharpe & Co, 2004.
MADDISON, A. Chinese Economic Performance in the Long Run:
960-2030 AD. Paris: OECD, 2007.
MEDEIROS, C. A. China: entre os sculos XX e XXI. In: FIORI, J. L. (Org.).
Estados e moedas no desenvolvimento das naes. Petrpolis: Vozes, 1999.
______. Desenvolvimento econmico e ascenso nacional: rupturas e transi-
es na Rssia e na China. In: FIORI, J. L.; MEDEIROS, C. A; SERRANO, F.
(Org.). O mito do colapso do poder americano. Rio de Janeiro: Record, 2008.
MORAES, R. F. Instituies de segurana e potncias regionais: a Organizao
para a Cooperao de Xangai (SCO) e a comunidade econmica dos estados da
frica ocidental (Ecowas). Boletim de Economia e Poltica Internacional, Ipea,
n. 2, p. 37-47, 2010.
NORLING, N. China and Russia: partners with tensions. Policy Perspectives,
v. 4, n. 1, p. 33-48, 2007.
ORTEGA, F. A. As Revolues Coloridas: a antiga Unio Sovitica a caminho da
democracia? In: SIMPSIO EM RELAES INTERNACIONAIS DO PRO-
GRAMA DE PS-GRADUAO EM RELAES INTERNACIONAIS
SAN TIAGO DANTAS, 1., So Paulo, 12-14 nov. 2007.
233 A Ascenso Chinesa e a Nova Geopoltica e Geoeconomia das Relaes Sino-Russas
ROUCEK, J. La disputa entre la Rusia Sovitica y las tierras fronterizas de la China
Comunista. Revista de Poltica Internacional, n. 80, p. 75-98, jul./ago. 1965.
ROMANO, G. S. A economia poltica do gs e do petrleo: a experincia russa.
Braslia: Ipea, 2010 (Texto para Discusso, n. 1474).
RUSSIA INKS USD6 Billion Deal with China to Supply 475 Million Tonnes of
Coal. Ordons News, 11 set. 2010. Disponvel em: <http://www.ordons.com/asia/
far-east/7169-russia-inks-usd6-billion-deal-with-china-to-supply-475-million-
-tonnes-of coal.html?utmsource=ordonsnewsutmmedium=twitter>.
SCHOICHI, I.; IVANOV, V. I.; DAOJIONG, Z. China, Japan and Russia:
the energy securit nexus. In: SWANSTRM, N. (Ed.). Confict Prevention and
Confict Management in Northeast Asia. Uppsala, SW: Uppsala University, 2005.
SOUZA, L. S. A geopoltica energtica sino-russo. Revista Eletrnica de Direito
Internacional, v. 5, p. 202-226, 2009.
STEWART, T. E. Russia and China: an historical perspectives on the prospects
for alliance. Masters Tesis. Naval Postgraduate School, Monterey, CA, jun. 1997.
TSAI, M. Y. From adversaries to partners? Chinese and Russian Military
Cooperation after the Cold War. London: Praeger Publishers, 2003.
WEITZ, R. Demise of Russian-Chinese Arms Relationship and Its Korean
Implications. International Journal of Korean Unification Studies, v. 18,
n. 2, p. 86-120, Dec. 2009.
ZONENSCHAIN, C. N. O caso chins na perspectiva do catch-up e das
instituies substitutas. 2006. Tese (Doutorado) Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro, UFRRJ, Rio de Janeiro, 2006.
CAPTULO 6
A EXPANSO DA CHINA PARA A FRICA: INTERESSES
E ESTRATGIAS
Padraig Carmody*
Francis Owusu**
1 INTRODUO
A frica tem ampliado sua importncia estratgica para as principais potncias
mundiais nos ltimos anos. Em parte, isto tem sido impulsionado pelo crescimento
econmico da China. Pela primeira vez, desde a era do comrcio de escravos, os
fuxos de exportaes e importaes africanos foram reorientados do Hemisfrio
Norte para o Oriente (CLAPHAM, 2005). Devido principalmente aos investimen-
tos chineses e norte-americanos em petrleo e ampliao da demanda da China
por minerais, a frica registrou uma taxa de crescimento econmico de 5,2% em
2005, a maior nos ltimos tempos (PAN, 2006). Segundo dados do Fundo Mone-
trio Internacional (FMI), a economia da frica Subsaariana cresceu quase 7% ao
ano (a.a.), entre 2004 e 2007, antes de cair para 2,6%, em 2009, em razo da crise
econmica global (FMI, 2010). O investimento direto estrangeiro (IDE) no conti-
nente tambm se expandiu em termos absolutos ao longo desse perodo.
Como resultado desse movimento, alguns autores tm discutido a existncia de
uma Nova Disputa pela frica.
1
Essa disputa tem envolvido poderes estabelecidos,
como os Estados Unidos e os pases emergentes, como o Brasil (RIBEIRO, 2009).
Entretanto, o nvel de engajamento da China com o continente africano foi o que
assumiu maior relevncia recentemente. Na verdade, como defniu Blair (2008), ao
longo dos ltimos anos, a China transitou de um ator esttico para o mais infuente
pas no continente. Todavia, a entrada da China na frica tem sido conduzida por
um conjunto amplo de agentes, muitos dos quais no estiveram sujeitos ao controle
do Estado chins e possuram interesses concorrentes (TAYLOR, 2009). Em virtude
disso, tornou-se extremamente complexo delimitar os interesses pblicos e privados
da China no continente (BRESLIN, 2009).
* Professor de Geograa Humana do Departamento de Geograa, da Trinity College da Universidade de Dublin, Irlan-
da, e doutor em Geograa pela Universidade de Minnesota, Estados Unidos.
** Professor e diretor de graduao do Departamento de Planejamento Regional (Doge) da Universidade de Iowa,
Estados Unidos, e doutor em Geograa pela Universidade de Minnesota, Estados Unidos.
1. Ver Southall e Melber (2009) e Carmody (2011).
236 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
Do turismo em Serra Leoa, passando pelas fbricas de motos em Gana e che-
gando s refnarias de petrleo no Sudo, os investimentos chineses na frica tm
se expandido em ritmo muito acelerado. Entre 2000 e 2005, os fuxos comerciais
entre a China e a frica mais que triplicaram (FRENCH, 2005), um ritmo de cres-
cimento jamais observado anteriormente. Somente no binio 2003-2004, as impor-
taes chinesas oriundas da frica cresceram espantosos 87% (UNITED STATES
DEPARTMENT OF COMMERCE, 2005; FINANCIAL TIMES, 2006). Mais de
60% das exportaes de madeira africana foram destinadas ao Leste da sia, e 25%
dos suprimentos de petrleo da China vieram do Golfo da Guin (MELVILLE;
OWEN, 2005; SERVANT, 2005). Depois de lanar o primeiro satlite espacial da
Nigria,
2
a China ultrapassou o Reino Unido e se tornou, no fm de 2005, o segundo
maior parceiro comercial da frica, fcando atrs somente dos Estados Unidos, como
aponta o grfco 1 (WILSON, 2005; HILSUM, 2005).
GRFICO 1
Evoluo das importaes provenientes da frica para pases selecionados 1999-2008
(Em US$ milhes correntes)
1
0
12.000
24.000
36.000
48.000
60.000
72.000
84.000
96.000
108.000
120.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Estados Unidos Reino Unido China
ndia Brasil Frana
Fonte: Direction of Trade Statistics/FMI.
Elaborao dos autores.
Nota:
1
Incluindo custo, seguro e frete.
Diferentemente das importaes, a China se tornou a principal nao exporta-
dora para a frica desde 2007. O rpido crescimento das exportaes chinesas para o
continente africano fez que a diferena para as exportaes francesas segundo maior
exportador da frica saltasse de US$ 3,8 bilhes para US$ 8,9 bilhes grfco 2.
2. Torna-se necessrio observar que o satlite espacial da Nigria apresentou problemas e teve que ser desligado, susci-
tando renovados temores a cerca da qualidade dos produtos chineses e sobre os projetos de infraestrutura no continente.
237 A Expanso da China para a frica: interesses e estratgias
GRFICO 2
Evoluo das exportaes para a frica de pases selecionados 1999-2008
(Em US$ milhes correntes)
1
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Estados Unidos Reino Unido
China
ndia Brasil Frana
Fonte: Direction of Trade Statistics/FMI.
Elaborao dos autores.
Nota:
1
Incluindo custo, seguro e frete.
A despeito da maior participao chinesa, o nvel de envolvimento dos Es-
tados Unidos com a frica tambm tem aumentado signifcativamente, especial-
mente depois dos ataques terroristas de 11 de Setembro de 2001 (OWUSU, 2007).
Por exemplo, o comrcio exterior norte-americano com a frica aumentou 37%
em 2004 (UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE, 2005), e o to-
tal de petrleo exportado do Oeste da frica para os Estados Unidos j ultrapassou
o da Arbia Saudita. Ademais, as negociaes dos Estados Unidos com a frica su-
peraram quelas com a Rssia e com o antigo bloco do Leste Europeu (AFRICAN
DEVELOPMENT BANK, 2003).
Em suma, as estratgias de comrcio e investimento da China e dos Estados
Unidos moveram a frica para o centro do palco das polticas globais de petrleo
e segurana. Isso posto, o que tem signifcado essa maior concorrncia geoeco-
nmica entre o Ocidente e o Oriente no continente africano? Ser que a nova
disputa pela frica fortalece os estados autoritrios e alimenta o confito direto ou
abre espao para a formulao de novos paradigmas em termos polticos?
Neste captulo, investiga-se as implicaes do investimento chins e as es-
tratgias comerciais para a frica. Primeiramente, na seo 2, busca-se explorar o
interesse chins e o envolvimento com o continente desde 2000. Em seguida, na
seo 3, passa-se a descrever a estratgia geoeconmica chinesa para o continente
e na seo 4, as vantagens que ela traz para a competio por recursos com os
238 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
Estados Unidos. Logo, na seo 5 discute-se os impactos econmicos dos inves-
timentos chineses e do comrcio exterior com a frica, bem como, na seo 6,
o modo pelo qual esses impactos afetam o sistema poltico e a reestruturao do
estado africano. Por fm, na seo 7 segue as consideraes fnais.
Vale ressaltar ainda nesta introduo que com a escassez de recursos globais
particularmente os combustveis fsseis , a geoeconomia tem tratado cada vez mais
sobre como proteger o acesso aos recursos naturais a fm de garantir a estabilidade e
o crescimento econmico, o que permitiria assegurar e sustentar o poder dos esta-
dos nacionais no sistema internacional.
3
O poder econmico da China tem se am-
pliado de modo ininterrupto nas ltimas dcadas, afetando regies como a frica,
onde um volume relativamente modesto de investimento estrangeiro, se compara-
do ao de outros locais, adquiriu grande relevncia para o desenvolvimento africano,
dado o pequeno tamanho de sua economia. No entanto, o crescente envolvimento
e as tenses, em particular, da China com os Estados Unidos tambm trouxeram
implicaes para as relaes internacionais e o desenvolvimento da frica. Como
Raine (2009, p. 9) observou:
(...) o continente tornou-se a arena na qual as potncias da sia e do Ocidente
puderam testar individualmente suas intenes e estabelecer oportunidades e
limites de cooperao, seja no contexto da manuteno da paz, seja na busca de
mercados ou para garantir recursos naturais.
Partindo desse contexto, a seguir, examina-se a natureza do envolvimento
chins no continente.
2 RECURSO COLONIALISTA OU ANTI-IMPERIALISTA? INTERESSES CHINESES E
ENVOLVIMENTO NA FRICA
O desejo da China de se tornar uma potncia econmica mundial, estabelecendo um
contrapeso hegemonia dos Estados Unidos no sistema internacional, ganhou fora
no perodo recente. A expanso da economia chinesa nos primeiros anos do novo s-
culo foi responsvel por 25% de todo o crescimento econmico global (ELLIS, 2005).
3. Segundo Klare (2005), a crescente competio por recursos escassos levou a um renascimento das geopolticas na
primeira dcada do sculo XXI. As geopolticas, como um campo, envolvem o estudo da maneira em que o espao
molda as relaes internacionais. No entanto, alm de ser um campo de estudo acadmico, a geopoltica tambm
um conjunto de prticas por meio das quais os estados tentam projetar inuncia sobre os espaos de outros estados.
Essas prticas de alta geopoltica so, por sua vez, informadas por compreenso popular das relaes internacionais
ou geopoltica popular, que so moldadas por intemdio do imaginrio dos meios de comunicao, ver Mawdsley
(2008). Em vez de pegar categorias como Estado-nao, por exemplo, o relativamente novo campo de geopolticas
crticas examina a forma como essas ideias e prticas so construdas por meio de discursos. Entretanto, indiscutvel
que a geoeconomia , agora, a mais importante em determinar as relaes da frica com o resto do mundo. Alguns a
consideram um subcampo da geopoltica. No entanto, h um argumento a ser feito sobre isso, porque a globalizao
resultou na integrao funcional de atividades econmicas dispersas (DICKEN, 1998), e isso deve ser considerado
como um campo pouco distinto de estudo. Considerando que a geopoltica concentra sua ateno sobre a maneira
pela qual os estados procuram agregar e projetar seu poder a m de aument-lo, a tica da geopoltica nos leva a
examinar os meios em que o relativo poder econmico estrutura as relaes internacionais (AGNEW; CORBRIDGE,
1995) e os impactos sobre as vidas das pessoas.
239 A Expanso da China para a frica: interesses e estratgias
E, segundo algumas estimativas, em paridade de poder de compra, a economia chi-
nesa pode se igualar dos Estados Unidos j em 2015 (THE ECONOMIST, 2006).
Este resultado fez que a demanda do pas asitico por recursos naturais, especialmente o
petrleo, se ampliasse consideravelmente. Em 2003, a China ultrapassou o Japo como
o segundo maior consumidor mundial de petrleo e chegou a representar, nos primei-
ros anos do novo milnio, cerca de 40% do aumento global das compras de petrleo
(PAN, 2006). Ademais, o crescimento econmico da China requer maior quantidade
de recursos naturais do que outros pases mais desenvolvidos. Enquanto a demanda
chinesa por petrleo aumenta em 1% para cada aumento percentual do seu produto
interno bruto (PIB), nos pases da Organizao para a Cooperao e Desenvolvimento
Econmico (OECD), cujas economias esto fortemente inclinadas em direo aos ser-
vios, esse incremento foi de apenas 0,4% (DUMAS; CHOYLEVA, 2006). Em outras
palavras, a busca por recursos naturais se tornou um aspecto fundamental para a China
sustentar seu fenomenal crescimento econmico. Esse fato, somado necessidade de
encontrar mercados para seus produtos em um contexto de ampla capacidade de
interveno dos Estados Unidos , tem exigido do estado chins a redefnio de sua
estratgia geopoltica e econmica global, bem como a formao de novas alianas.
A forte ligao entre o mercado global e o norte-americano, dado o ele-
vado poder econmico dos Estados Unidos, fez que a China, como hegemon
aspirante, utilizasse outras estratgias de aproximao com as diferentes regies
do mundo. No caso da frica, isso ocorreu principalmente aps fcar evidente
que a China superaria a ndia em acordos de infraestrutura para petrleo no
continente. Esse acontecimento serviu de justifcativa para os Estados Unidos
identifcarem o primeiro pas como uma grande ameaa para a sua segurana
energtica, como bem defniu a analista da Central Intelligence Agency (CIA),
Erica Strecker Downs (BERI, 2005, p. 387). Todavia, qual a viso da frica
sobre esse processo? De que modo o continente africano interpretou o eixo da
estratgia geopoltica do estado chins no que diz respeito aos locais de atuao
e instituies envolvidas (KRAXBERGER, 2005)? Quais tipos de polticas os
chineses perseguiram na frica?
Embora a China tivesse se tornado um player importante em termos de IDE
na frica, a regio no foi o principal destino dos investimentos globais chineses.
Em 2004, por exemplo, a Amrica Latina, a sia e a Europa representaram 94% do
destino dos fuxos de IDE chins. Em 2003, 77% do investimento direto estran-
geiro chins fora da sia foi para a Amrica Latina (ELLIS, 2005). No entanto, por
causa da quantidade relativamente pequena de IDE global recebida pela frica, os
investimentos diretos chineses exerceram um papel fundamental para o continente,
muito maior do que o sugerido pelas propores envolvidas.
4
4. A arrecadao total de IDE para a frica foi de US$ 18 bilhes em 2004, que representavam apenas 3% do uxo do IDE global.
240 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
Como a demanda da China por insumos industriais tem sido crescente, a fri-
ca mostrou um forte potencial para atender uma parcela signifcativa desta, uma vez
que o continente territorialmente trs vezes maior do que a China e possui um
volume muito maior desses recursos (CARROLL, 2006). At a recente desacelerao
da economia mundial em 2008, o consumo chins de cobre se expandia a uma taxa
de 17% a.a.
5
o de zinco a 15% a.a. e o de nquel a 20% a.a. (ELLIS, 2005). No
por outro motivo que as empresas chinesas investiram US$ 170 milhes no setor
de cobre na Zmbia, que resultou na reabertura da mina de Chambishi, fechada
em 1988, onde o nmero de empregados era em torno de 2 mil pessoas (LYMAN,
2005; CARROLL, 2006). Embora as polticas neoliberais promovidas pelas insti-
tuies fnanceiras internacionais (IFIs) tivessem agravado os problemas econmicos
do continente,
6
o investimento chins, em parte, e de forma desigual, reverteu a ten-
dncia de estagnao. Contudo, isto se deu mediante imposio de um regime de
trabalho inapropriado. Entre outros exemplos, foi observado que os trabalhadores da
mina de propriedade chinesa de Collum, na Zmbia, nunca tiveram um dia de folga
(DIXON, 2006). Mesmo assim, foram esses interesses geoeconmicos que deram os
principais traos da estratgia chinesa para a frica, como sugere a seo 3.
3 A ESTRATGIA GEOECONMICA DA CHINA PARA A FRICA
Os Estados so formados por conjuntos de prticas e relaes sociais, em vez
de atores unifcados. Quanto s polticas dos pases em desenvolvimento,
como a China, so marcadas pela coerncia, dado o objetivo primordial de
expanso e reestruturao de suas economias (NIS, 1991). Ao contrrio dos
diferentes setores do governo dos Estados Unidos envolvidos em assistncia,
energia, aquisio ou defesa, que defniram a frica como regio de grande
interveno humanitria, extrao de recursos naturais e ameaa segurana,
respectivamente, o Estado chins viu na frica um espao econmico estrat-
gico. Essa estratgia geopoltica ganhou sentido, por um lado, para enfrentar
os desafos impostos pela transformao da estrutura econmica chinesa e, por
outro lado, para questionar a manuteno dos Estados Unidos como hegemon
do sistema internacional.
Embora essas questes sejam tratadas neste captulo, mais estudos empri-
cos setoriais, bem como sobre empresas, pases, regimes e estratgias internas so
necessrios a fm de compreender a especifcidade e a natureza experimental do
envolvimento chins no continente africano. A despeito disso, alguns elementos
gerais da estratgia geoeconmica da China na frica puderam ser identifcados, a
saber: i) garantia de acesso aos recursos naturais crticos, particularmente petrleo
5. A China hoje o maior consumidor mundial de cobre, cujo preo subiu de US$ 1.319,00 por tonelada, em 2001,
para US$ 8.800,00, em 2006.
6. Ver Mkandawire (2005).
241 A Expanso da China para a frica: interesses e estratgias
e gs natural, para manter o crescimento econmico do pas; ii) esterilizao dos
elevados volumes de reservas cambiais por meio da sada de investimentos estran-
geiros; iii) facilitao para internacionalizao das empresas multinacionais chine-
sas associada aos elementos anteriores; iv) abertura de novos mercados externos
para absorver a produo industrial chinesa; v) desenvolvimento da agricultura
africana para prover, alm de alimentos zona urbana chinesa em expanso, pro-
dutos primrios no alimentares necessrios estrutura produtiva e aos consumi-
dores chineses; e vi) aumento do know-how dos trabalhadores sobre o mercado
africano, aspecto fundamental para atender as demandas da economia chinesa.
7
A diversidade de recursos do petrleo s praias e de estrutura macroeconmica,
entre os pases africanos, foram os principais responsveis por defnir a diviso de
trabalho da regio com a China. No entanto, a atuao econmica da China no
foi explicada apenas por estes fatores, que formaram um plano estratgico coeren-
te, mas tambm pela sua dinmica estrutural interna. A industrializao chinesa
dirigida para a exportao, por exemplo, gerou um volume elevado de reservas
cambiais que precisou ser reciclado no exterior por meio do investimento direto.
Os aspectos geopolticos, ainda que estivessem subordinados aos elementos
geoeconmicos, tambm exerceram uma funo central a fm de defnir a estrat-
gia chinesa para a frica. Foi a partir dessas duas esferas geopoltica e geoecon-
mica que a China conseguiu se projetar no continente africano em um cenrio
de assimetria de poder internacional. Logo, o pas asitico implementou na frica
o que fcou conhecido como ascenso pacfca, aproveitando de suas vantagens
competitivas econmicas em relao aos Estados Unidos, mas sem criar um con-
fito direto com este ltimo pas.
A busca por fontes seguras de abastecimento obedeceu no apenas estratgia de
ascenso da China como potncia global, como tambm sua necessidade de assegurar
recursos energticos escassos. A frica ganhou importncia nesse ltimo aspecto parti-
cularmente depois do 11 de Setembro de 2001 e da guerra no Oriente Mdio, quando
fcou clara a poltica chinesa de diversifcar seus fornecedores de petrleo (PAN, 2006;
SERVANT, 2005). Nesse sentido, a China tem construdo redes verticalmente integradas
de abastecimento desse produto, alm de outras commodities, para possibilitar que esses
bens fossem dirigidos ao mercado interno por meio de suas estatais, como a National
Petroleum Company (CNPC) entre outras (ELLIS, 2005). Isto permitiu ao pas asitico
sustentar o preo do petrleo abaixo do mercado mundial como forma de subsidiar e
garantir a continuidade seu processo de industrializao, principalmente quele orientado
para a exportao (ALDEN, 2005a).
Alm disso, a China encontrou no mercado africano um lugar lucrativo para
seus investimentos, tendo em vista aquela necessidade de reciclar as reservas cambiais.
7. Os autores agradecem Dick Peet por sugerir a elaborao de uma sistematizao dos elementos dessa estratgia.
242 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
Esses investimentos tiveram por meta impulsionar a fraca demanda africana me-
diante, por exemplo, a ampliao da estrutura de turismo onshore e ofshore. Desde
que liberalizou os investimentos estrangeiros para o turismo em 2003, a China esta-
beleceu ofcialmente 26 destinos tursticos na frica em pases distintos a fm de
recompensar e estreitar as relaes com os governos dessa regio. Em Serra Leoa, por
exemplo, houve um investimento de US$ 200 milhes em um complexo turstico
direcionado para os visitantes chineses.
8
Por causa disso, a entrada de turistas da nao
asitica na frica mais que quadruplicou ao longo da dcada de 2000.
Ao lado dos aspectos econmicos estruturais demanda por recursos natu-
rais, questes de balano de pagamentos etc. , a forte internacionalizao chinesa
na frica respondeu menor competio para realizar investimentos na frica
se comparada Europa e aos Estados Unidos. Assim, as corporaes da China
puderam ampliar suas taxas de investimentos, sem ampliar o nvel de riscos e
mantendo baixos custos administrativos. Foi em razo disso que, por exemplo,
todas as importaes para a remodelao de hotis vieram da China.
A atuao da China na frica apoio institucional, concesso de emprstimos
etc. neste novo sculo esteve concentrada nos setores de infraestrutura fsica, in-
dstria e agricultura. Quando o ento secretrio geral do Partido Comunista Chins
(PCC), Jiang Zemin (1989-2002), visitou a Nigria, ele frmou acordos sobre a as-
sistncia chinesa para desenvolver a indstria nacional de armas leves, a construo
de refnarias de petrleo, de usinas de energia e a possvel reabilitao do sistema
ferrovirio, totalizando um investimento no valor de US$ 7 bilhes (AFRICAN
OIL POLICY INITIATIVE GROUP, 2001; LYMAN, 2005). A China tambm se
envolveu em projetos de transporte ferrovirio, rodovirio e de construo de cabo
de fbra tica em Angola (MARKS, 2006).
Em ltima instncia, mesmo que a ajuda e os investimentos chineses na frica
tivessem ocorrido de vrias formas e em diferentes setores, o principal objetivo foi
garantir o acesso de matrias-primas tanto no que se refere s compras de produtos,
como na construo de uma estrutura fsica para seu transporte. Por isso, a China
articulou sua atuao na frica priorizando a expanso da produo e a criao de
uma infraestrutura fsica e econmica para o desenvolvimento do setor primrio.
De acordo com o vice-ministro das relaes exteriores da China, Li Zhaoxing,
a China tem buscado fazer da agricultura uma rea fundamental da cooperao
[com a frica] (MUEKALIA, 2004, p. 10). Isto se explicou no apenas pela ex-
panso da demanda interna por produtos primrios, mas tambm por causa do ace-
lerado processo de industrializao e da urbanizao que motivou uma importante
reduo da rea cultivada na China que tem cado 1,4% a.a. (MUEKALIA, 2004).
8.
Conforme explicou a gerente do Hotel Bintumani, em Serra Leoa, que administrado pela estatal Beijing Urban
Construction Group: alto risco traz alto retorno (HILSUM, 2005).
243 A Expanso da China para a frica: interesses e estratgias
Por exemplo, vale destacar que as estradas criadas para permitir a circulao dos 2
milhes de carros vendidos na China, em 2003, signifcaram a pavimentao de uma
rea equivalente a 100 mil campos de futebol (BROWN, 2004).
No Zimbbue, os chineses tm expropriado as terras dos fazendeiros bran-
cos e cultivado as lavouras necessrias ao seu consumo. O tabaco enviado dire-
tamente para a China foi um meio de pagar os emprstimos obtidos junto s
empresas estatais do pas asitico (HILSUM, 2006). O investimento chins na
agricultura africana tem ocorrido em um momento em que os recursos destina-
dos pelos Estados Unidos e pelo Banco Mundial para frica foram deslocados
para as reas de sade e educao em detrimento da agricultura o fnanciamento
para esse setor caiu 90% ao longo da dcada de 1990. Ainda que isso tivesse se
modifcado depois da crise fnanceira global de 2008, quando o Ocidente voltou
a investir com mais nfase na agricultura familiar africana, a China tem mantido
em nveis elevados seus investimentos, bem como a aquisio de produtos agrco-
las e commodities da frica.
Ligados principalmente ao setor primrio da economia, nos ltimos anos,
os fuxos de IDE chineses para a frica se multiplicaram muito rapidamente
(grfco 3). Se at 2005, a China no investiu mais do que US$ 500 milhes
em todo o continente africano, em 2008 os fuxos de investimentos chineses se
situaram acima de US$ 5 bilhes.
GRFICO 3
Fluxos de investimentos chineses na frica
(Em US$ milhes correntes)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fontes: Van Der Lugt et al. (2011, p. 71) e Ministry of Commerce of China.
A exemplo dos investimentos estrangeiros, as importaes de commodities,
petrleo e outros insumos energticos, cresceram exponencialmente em 2000,
244 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
como atestam os dados da Conferncia das Naes Unidas sobre Comrcio e
Desenvolvimento (UNCTAD). Diferentemente dos anos 1990, quando as im-
portaes desses produtos se ampliaram somente US$ 900 milhes saltaram de
US$ 1 bilho em 1995 para US$ 1,9 bilho em 1999 , na dcada passada este
crescimento chegou a ser de US$ 46,5 bilhes. Em 2000, essas importaes que
eram US$ 4,8 bilhes atingiram o valor de US$ 51,4 bilhes em 2008. Como
resultado desse movimento, a participao do setor de commodities, petrleo e
outros insumos energticos nas importaes chinesas, oriundas da frica, cresceu
ainda mais em 2000. O percentual desse setor saiu de 76,4% no trinio 1995-
1997 para 93,3% no de 2007-2009 (tabela 1).
TABELA 1
Pauta de importao da China oriunda da frica 1995-2009
(Em %)
1995-1997 1998-2000 2001-2003 2004-2006 2007-2009
Commodities e petrleo 76,4 84,7 87,1 91,6 93,3
Intensivo em trabalho e recursos naturais 7,6 5,4 4,0 3,6 2,5
Baixa intensidade tecnolgica 4,6 2,9 3,9 2,0 2,1
Mdia intensidade tecnolgica 7,9 4,5 2,5 1,3 0,8
Alta intensidade tecnolgica 3,3 2,4 2,4 1,5 1,2
No classicados 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0
Fonte: Handbook of Statistics/UNCTAD.
Elaborao dos autores.
Partindo dessas principais diretrizes da estratgia chinesa para a frica,
busca-se na seo 4 discutir qual o padro de relao estabelecido pela China
com o continente africano.
4 UMA HEGEMONIA BENEVOLENTE? O SOFT POWER CHINS NA FRICA
Em 1996, quando visitou a frica, Zemin props cinco diretrizes para nortear
as relaes sino-africanas, a saber: amizade sincera; igualdade; solidarieda-
de e cooperao; desenvolvimento; e viso de longo prazo (MINISTRY OF
FOREIGN AFFAIRS OF THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA, 2002).
Estas diretrizes, que fazem parte do soft power
9
chins, permitiram o estreita-
mento das relaes entre as duas regies, uma vez que a China tem afrmado
uma cooperao desinteressada com a frica. Somado a este aspecto, notou-
-se a crescente desconfana dos africanos com as antigas potncias coloniais e,
consequentemente, com os Estados Unidos, que no perodo recente assumiu
uma posio neocolonial no continente.
9.
Soft Power uma concepo gramsciana de poder, baseado na atrao, anidade, persuaso e emulao (NYE, 2002).
245 A Expanso da China para a frica: interesses e estratgias
Tambm importante asseverar que, desde 1990, o engajamento chins
na frica se deveu aos laos estabelecidos historicamente entre as duas regies.
A China, alm de possuir um substancial capital poltico preexistente na frica,
apoiou economicamente o desenvolvimento da regio, j que 62% dos recursos
chineses destinados assistncia foram para o desenvolvimento da frica entre
1956 e 1987 (TAYLOR, 1998). Essa iniciativa no refetiu somente interesses
internos da China, mas tambm respondeu ao acirramento dos confitos entre
China e Unio Sovitica que se manifestou na busca pela ampliao dos espaos
de infuncia na frica (MEREDITH, 2005). Com o fm da Guerra Fria, quan-
do houve a dissoluo da Unio Sovitica e os pases do Ocidente diminuram
fortemente sua interveno na frica, abriu-se uma janela de oportunidade para
a China estreitar suas relaes, principalmente as diplomticas, com o continente
(DONINI, 1995; PAYNE, VENEY; 1998; YU, 1988). Aps o colapso do bloco
sovitico, a China se mostrou favorvel ao desenvolvimento dos pases em desen-
volvimento por meio da formao de um grupo capaz de sustentar uma posio
autnoma global. Nas palavras de Taylor (1998, p. 459) a China procurou se unir
a uma elevada quantidade de naes do Terceiro Mundo que visassem percorrer
um caminho nico e prximo ao chins, como se todos fossem formigas ten-
tando manter o elefante distante do seu percurso.
Outra questo que motivou a aproximao sino-africana, foi o apoio dado
pela China na luta anti apartheid. Ademais, o pas tambm executou outras par-
cerias com a frica de ordem econmica e social desde meados do sculo passado.
Quando o governo da Rodsia atualmente o Zimbbue declarou unilateral-
mente a independncia da Gr-Bretanha, em 1965, a China se responsabilizou
pela execuo de um projeto de alta complexidade tcnica, o de construo da fer-
rovia Tanznia-Zmbia (TanZam) (CLAPHAM, 1996). A partir de 1963, 15 mil
mdicos chineses trabalharam em 47 pases africanos, tratando de 180 milhes de
casos de HIV/AIDS,
10
entre outras doenas (MARKS, 2006). Os chineses reser-
varam um fundo especial para apoiar os investimentos e instalar joint ventures de
suas empresas na frica, aceitando o pagamento em espcie como forma de reduzir
os encargos fnanceiros e, assim, subsidiar as exportaes para a China de todas
as empresas localizadas na frica. O pas asitico tambm cancelou uma dvida
bilateral com a frica no valor de US$ 10 bilhes a frente do G-8
11
(MELVILLE;
OWEN, 2005). E, mais importante, a atuao da China na frica, em vez de ape-
nas transferir o conhecimento tcito, tem se baseado na disseminao dos avanos
tcnicos e tecnolgicos para o continente africano, aspecto fundamental para a
superao dos seus gargalos estruturais. Um caso que pode ser mencionado foi o
projeto Friendship Textile Mill, em Dar es Salaam, na Tanznia (JAMES, 2002).
10. Sndrome da Imunodecincia Adquirida.
11. Os pases que compem esse grupo so: Estados Unidos, Japo, Alemanha, Reino Unido, Frana, Itlia, Canad e Rssia.
246 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
Quando comparada com as atividades de uma joint venture francesa Sodefra insta-
lada em Mwanza, a fbrica construda pela China utilizou duas vezes mais trabalho
por tonelada produzida e apenas 40% do capital, alm de produzir a um custo
mais baixo (COULSON, 1982).
12
De acordo com um consultor ofcial do governo chins, Guixan (2005), o
modelo chins de desenvolvimento se baseou na modernizao tecnolgica apro-
priada a baixo custo, bem como na experincia de superao da misria e no desen-
volvimento da estrutura produtiva, em especial das micros, pequenas e mdias em-
presas. Esse modelo, por sua vez, no seguiu a cartilha do Consenso de Washington,
evitando a introduo de vrios de seus elementos, como o avano dos processos de
privatizao (ADSN, 2006). A atuao da China na frica foi guiada por esse
modelo de desenvolvimento, o que permitiu o fnanciamento anual de cerca de 10
mil africanos para serem treinados em Pequim mediante a criao de um fundo m-
tuo para o desenvolvimento de recursos humanos (SERVANT, 2005). No entanto,
essas iniciativas da China, que tiveram como objetivo acelerar o desenvolvimento
africano, procuraram simultaneamente facilitar a articulao de sua economia na re-
gio (THOMPSON, 2004). Nesse sentido, por exemplo, os alunos que retornaram
frica, falando fuentemente em mandarim, desempenharam a funo de interme-
dirios dos negcios frmados pelas empresas chinesas.
13
Para o Programa de Pequim para a Cooperao China-frica em Desenvol-
vimento Econmico e Social,
(...) a globalizao, atualmente, apresenta mais desafos e riscos do que oportunidades
para o grande nmero de pases em desenvolvimento e, portanto, expressa a sua deter-
minao em reforar a cooperao existente entre a China e os pases africanos em todos
os campos (SOUTH AFRICAN DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS, 2000).
Esse documento tambm destacou a injusta e a desigual ordem mundial,
cujos impactos motivam China e frica assumirem uma posio conjunta
para o estabelecimento de uma nova ordem mundial que esteja mais ligada aos
seus interesses e necessidades (MUEKALIA, 2004).
Foi nessa direo que se compreendeu o posicionamento similar dos lderes
chineses e africanos, em uma cpula comercial em 2003, de construir uma agen-
da poltica e econmica a fm de modifcar o status quo do sistema internacional,
questionando a liderana do Ocidente, assim como a situao dos pases pobres
(EFANDE, 2003). Na realidade, essa agenda teve como alvo desestabilizar a
hegemonia norte-americana. Alm disso, a aproximao sino-africana, levando-
-se em conta a experincia histrica da China de elevada dependncia tanto
12. A despeito disso, o aumento da concorrncia proveniente das importaes asiticas e da regio levou, por exemplo,
ao encerramento de uma joint venture sino-zmbiana (BRUTIGAM, 2009; CARMODY, HAMPWAYE, 2010).
13. Notas de campo: Lusaka, Zmbia, 11 de agosto de 2009.
247 A Expanso da China para a frica: interesses e estratgias
de insumos industriais, como de recursos naturais , permitiu ao pas asitico
defnir uma estratgia com o intuito de se favorecer dos desequilbrios estruturais
existentes nas relaes comerciais bilaterais. No caso da frica, a necessidade de
importar um volume cada vez maior de bens manufaturados, em um cenrio
de crescente articulao entre sua indstria e a chinesa, limitou a capacidade da
regio africana de melhorar suas condies de negociaes comerciais, mesmo
considerando o aumento das exportaes de produtos primrios africanos para a
China. Pelo contrrio, isso possibilitou China, por exemplo, impor restries
voluntrias s exportaes de txteis e vesturio para a frica do Sul.
A forte liderana estatal deu s empresas chinesas a oportunidade de realizar
estratgias de longo prazo na frica. Contando com o apoio do estado chins, essas
corporaes estiveram melhores posicionadas para compensar as perdas de curto
prazo com lucros futuros. Conforme revelou o representante da empresa estatal
chinesa de construo na Etipia, para ingressar no pas africano ele foi instrudo a
abaixar a oferta de suas propostas, sem levar em conta o lucro. A maior fabricante
de equipamentos de telecomunicaes da China tambm pde usar uma estratgia
similar cedendo equipamentos para a Telkom Kenya (LYMAN, 2005). Essa es-
tratgia chinesa no foi uma inovao, mas apenas
(...) seguiu um caminho muito tradicional, estabelecido pela Europa, Japo e
Estados Unidos: subsidiar o desenvolvimento dos pases pobres e mais depen-
dentes por meio de parcerias globais de comrcio e abertura de mercado combi-
nados com auxlios fnanceiros e tecnolgicos (PAN, 2006).
As empresas chinesas tambm apresentaram outras vantagens competiti-
vas, como a possibilidade de realizar pagamentos de bnus no convencionais
(GARY, KARL; 2003). Enquanto isso era a prtica corrente no Ocidente, atual-
mente a gesto das empresas dessas regies tem primado pela maior transparn-
cia nas suas operaes, evitando a perda de sua reputao.
14
Todavia, no caso da
China essa tem sido uma prtica considerada necessria pelas empresas chinesas
para expandir seus negcios na frica, no sendo atribudo a ela nenhum tipo de
julgamento tico (DOBLER, 2008).
Outro tema que envolveu o avano das relaes sino-africanas foi a questo
dos direitos humanos. Um ofcial chins na frica argumentou que os direitos
econmicos eram a principal prioridade dos pases em desenvolvimento, estando
frente da liberdade individual e dos direitos pessoais amplamente difundidos no
Ocidente (TAYLOR, 1998). Partindo dessa perspectiva, alguns altos funcionrios
chineses afrmaram tambm que as polticas multipartidrias alimentaram a agita-
o social, confitos tnicos e guerras civis (op. cit., p. 453). Em ltima instncia,
14.
Apesar desse fato, os escndalos de corrupo envolvendo as empresas petrolferas ocidentais na frica
permaneceram (LEIGH, 2005).
248 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
esses discursos refetiram o objetivo do governo chins de sugerir que a questo
dos direitos humanos tem sido utilizada como ferramenta do neoimperialismo do
Ocidente (TAYLOR, 2004). Isso encontrou grande legitimidade no interior das
elites polticas africanas, tendo em vista a existncia de vrios sistemas polticos,
muitos desses diferentes daqueles estabelecidos na Europa e nos Estados Unidos.
Partindo dos impactos dessa estratgia formulada pela China, na seo 5 tenta-se
caracterizar a posio assumida pelo pas asitico na sua aproximao com a frica.
5 LIVRE COMRCIO IMPERIALISTA OU COOPERAO SUL SUL? OS IMPACTOS
ECONMICOS DA EMERGNCIA CHINESA
Para certos setores polticos dos Estados Unidos, a ascenso da China colocou um
questionamento sobre a difuso global do livre comrcio. Um estudo encomen-
dado pela Army War College dos Estados Unidos, sobre a infuncia chinesa na
Amrica Latina, argumentou que
(...) nas dcadas anteriores, a dependncia do capital estrangeiro do Ocidente obri-
gou s naes da Amrica Latina implementarem reformas neoliberais e de abertu-
ra comercial, restringido fortemente a sua capacidade de gerir autonomamente as
polticas econmicas e sociais seja por meio de suas instituies pblicas, seja pela
ampliao da generosidade do governo. (ELLIS, 2005, p. 29-30).
Essas polticas, do ponto de vista das instituies multilaterais e tambm
daqueles setores polticos, permitiriam Amrica Latina recuperar o dinamismo
de suas economias e ampliar seu nvel de competitividade global. Diferentemente
disso neste caso, somente para os grupos polticos norte-americanos , a entrada
da China na regio latino-americana foi caracterizada por estabelecer uma din-
mica neoimperialista no hemisfrio (op. cit., p. 9) e por promover uma desestru-
turao das indstrias da regio em razo da elevada competitividade imposta
pelos produtos chineses , aprofundando possivelmente as disparidades sociais e a
corrupo. Essa viso afastou uma parcela do sistema poltico dos Estados Unidos
dos pressupostos da economia neoclssica e fomentou o debate para redefnir o pa-
dro de relao com a Amrica Latina em direo a um realismo e estruturalismo.
Na perspectiva das autoridades chinesas, por sua vez, a Amrica Latina de-
veria se especializar na produo de bens primrios, em vez de realizar esforos no
sentido de desenvolver sua indstria de transformao, no somente pela elevada
competitividade que a regio possui nesse setor, mas tambm pelo crescimento
da demanda internacional por commodities e outros recursos naturais (HARVEY,
2005). Em funo de posturas como esta, os pases em desenvolvimento tem
buscado condicionar o ingresso da China na Organizao Mundial de Comrcio
(OMC) introduo de medidas antidumping que facilitassem a esses pases o
249 A Expanso da China para a frica: interesses e estratgias
acesso ao mercado chins.
15
Mesmo que a renda per capita da frica fosse 90%
inferior a da Amrica Latina, essas presses em relao forma de entrada da
China na OMC tambm foram verifcadas no continente africano, uma vez que
a estratgia chinesa para essa regio tambm trouxe resultados bastante deletrios.
A criao de emprego industrial foi considerada um elemento central a fm
de promover a democracia e a modernizao nas reas sociais essencialmente
de segurana da frica (ROTBERG, 2005). Ademais, como defniu Bradley
(2005), no Ocidente, o desenvolvimento de uma sociedade civil autnoma, com
base material prpria e que permitisse avanos para a fora de trabalho local e
para o setor privado, sempre dependeu da forte atuao do Estado Nacional.
Esse cenrio tambm tem se afrmado na frica, ainda que o exato signifcado
e o contedo da democracia africana devessem ser analisados em um contexto
especfco e diferenciado.
A frica, desde a dcada de 1990, foi afetada pelo tsunami da indstria txtil
chins (ASIANEWS, 2004). Em Botswana, por exemplo, o nmero de empresas
registradas duplicou nos ltimos anos, sendo muitas dessas direcionadas para im-
portar produtos chineses (BOTHA, 2004). J na frica do Sul, no incio da dcada
passada, em torno de 80% das camisetas importadas tiveram como origem a China
(LYMAN, 2005). A forte entrada dos produtos chineses, associado ao estabeleci-
mento do Acordo de Txteis e Vesturio,
16
em 2005 tornando menos efcaz o US
African Growth and Opportunity Act (AGOA) , afetou a indstria sul-africana
duplamente. Em primeiro lugar, por conta da elevada competitividade imposta pe-
los produtos chineses e, em segundo lugar, em virtude da eliminao do valor prefe-
rencial pago aos produtos da frica do Sul vendidos para o mercado norte-america-
no (LYMAN, 2005). Isso fez que as exportaes de vesturio da frica do Sul para
os Estados Unidos cassem de US$ 26 milhes no primeiro trimestre de 2004 para
US$ 12 milhes no primeiro trimestre de 2005, o que resultou em uma eliminao
de 30 mil postos de trabalho (ASIANEWS, 2004). No caso do Lesoto, onde as
vendas de txteis e de vesturio foram responsveis recentemente por 99,14% dos
ganhos de exportao (ADABA, 2005), mais de 10 fbricas de roupas foram fecha-
das em 2005, com uma perda de 10 mil empregos. Nas reas muulmanas de Kano
e Kaduna na Nigria, as importaes de txteis devastaram a economia local e as
indstrias de bens de consumo (LYMAN, 2005). Ainda que alguns setores nigeria-
nos afrmassem existir uma elevada impreciso sobre os efeitos da entrada da China
no pas, as estimativas do sindicato dos trabalhadores de vesturio e dos industriais
txteis da Nigria sugeriram que a concorrncia chinesa foi responsvel pela reduo
15.
No entanto, os pases latino-americanos tambm tm sido bem-sucedidos nas negociaes de restries volun-
trias s exportaes com a China, permitindo-lhes desfrutar de um supervit comercial. Novamente, isso mostra a
preocupao de longo prazo da China com a oferta de recursos em vez de expanso do mercado de curto prazo.
16. Esse acordo sucedeu o Multi-Fibre Arrangement (1974-2004).
250 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
de 350 mil postos de trabalho diretos e 1,5 milho indiretos nos ltimos cinco anos
(MARKS, 2006). Dirigentes do sindicato do comrcio africano estimaram que 250
mil postos de trabalho nas indstrias txteis e de vesturio foram perdidos devido
penetrao das importaes chinesas, aproximadamente o mesmo nmero citado
pelo Agoa (MARKS, 2006; GIBBON, 2003).
Partindo da constatao que a deteriorao da estrutura produtiva africa-
na tem ocorrido simultaneamente expanso do setor petrleo, notou-se uma
reorientao do comrcio exterior do pas para as vendas dessa commodity em
vez de manufaturas leves. Em virtude desse fato, por exemplo, as exportaes
de Angola e Chade em direo ao mercado norte-americano j superaram as
do Lesoto (UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE, 2005).
Como produto desse movimento de deslocamento da produo industrial para
extrao de petrleo e minrios, a estrutura tecnolgica das economias africanas
tem se tornado cada vez mais atrasada em relao das outras regies do globo
(ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, 2002).
A imposio de restries temporrias sobre a entrada de produtos txteis chi-
neses nos Estados Unidos e na Unio Europeia redirecionou os investimentos, no
curto prazo, dessas indstrias para frica, permitindo breve recuperao da estru-
tura produtiva mais intensiva em mo de obra (PAN, 2006). Por exemplo, todas as
fbricas do setor txtil que fecharam em Lesoto j foram reabertas (IRIN, 2006a).
No entanto, sob os acordos da OMC, a capacidade de usar largamente medidas de
salvaguarda para conter os surtos de importao foi encerrada em 2008, e termi-
naro completamente em 2013, o que deve novamente minorar a competitividade
dessas indstrias (GIBBON; PONTE, 2005).
Segundo os analistas chineses, a razo fundamental para o aumento das
importaes da China de txteis e vesturio [na frica] a alta demanda [do
continente] por esses produtos (GUIXAN, 2005). Ao contrrio disso, os crticos
da poltica chinesa na frica argumentaram que esta signifcou um novo neocolo-
nialismo, disfarado como cooperao Sul Sul. Como argumentou o vice-presi-
dente da South African Institute of International Afairs, Moletsi Mbeki, vende-
mos matrias-primas e eles nos vendem produtos manufaturados, motivando um
saldo comercial previsivelmente desfavorvel frica do Sul (SERVANT, 2005).
O comrcio sino-sul-africano foi responsvel por mais de 20% de todas as
transaes comerciais entre frica e China, representando mais do que o dobro do
comrcio entre as duas regies durante um perodo de seis anos (PEOPLES DAILY
ONLINE, 2004). A China se tornou o principal parceiro comercial da frica do
Sul, materializando-se no apoio dado pelos chineses New Partnership for African
Development (NEPAD) e nos esforos regionais de integrao com a frica do
Sul (CHINA DAILY, 2004). Tendo em vista os efeitos deletrios para a economia
251 A Expanso da China para a frica: interesses e estratgias
sul-africana isto pode parecer paradoxal, assim como o fato de que a China enviou
observadores eleitorais para a frica (FINANCIAL TIMES, 2006), mesmo assim
observou-se que, a exemplo dos chineses, os sul-africanos se mostraram favorveis
integrao econmica regional e aos procedimentos de governo da NEPAD.
17
A soluo apresentada por Trevor Manuel, ex-ministro de fnanas da frica do
Sul, para a ameaa competitiva chinesa foi desenvolver novos setores da indstria sul-
-africana e melhorar a competitividade da estrutura produtiva j existente para ganhar
acesso ao mercado chins (GUIXAN, 2005). Outra alternativa para contrabalanar
os efeitos da entrada chinesa, sugerida por um assessor de economia do presidente da
frica do Sul, foi explorar o crescimento das exportaes de servios que encontrou na
China, e tambm na ndia, dois mercados em expanso (CREAMER, 2005).
Todavia, foi o governo chins que autorizou a utilizao de dois instrumentos
a fm de minorar a presso competitiva sobre a produo dos pases africanos a partir
de 2005: i) introduo de tarifas de exportao em 148 linhas de produtos txteis e
de vesturio; e ii) proibio da realizao de investimentos incrementais no mercado
africano em 28 categorias do segmento txtil (GUIXAN, 2005). Estes instrumentos
serviram de resposta ameaa da imposio de medidas de salvaguarda da frica
do Sul e da regio, e tambm para evitar o superaquecimento da economia nacional,
uma vez que a forte expanso da estrutura produtiva africana estava impulsionando
um crescimento mais elevado dos salrios e, consequentemente, da infao.
No entanto, por conta dos compromissos assumidos na OMC, ocorreu
simultaneamente a esse movimento uma reduo das taxas de importao de
produtos txteis vindos da China para 11,4% e a abolio de tarifas em 190
produtos importados chegando a 440 no perodo mais recente de 25 pases
africanos (BARTHOLOMEW, 2005; MARKS, 2007). Desse modo, as maiores
tarifas de exportao e a restrio dos investimentos para a indstria chinesa fo-
ram compensadas pelas medidas ligadas OMC. Isso, ainda que fzesse parte de
um discurso ampliar e equilibrar os fuxos bilaterais do ponto de vista da China
neocolonial , essa estrutura de comrcio se mostrou desfavorvel indstria e
s contas externas africanas. Como forma de compensar esses efeitos deletrios,
a liberalizao econmica promovida por Pequim estabeleceu acordos de iseno
de impostos nas colheitas antecipada para o Sudeste da sia e da frica que
eram exportadas para o mercado chins (GLOSNY, 2007). Esse fato, por sua vez,
no signifcou que a China aceitaria as restries injustas e discriminatrias na
relao comercial com os sul-africanos (LYMAN, 2005).
Entretanto, o crescimento econmico chins que motivou um forte direcio-
namento da relao sino-africana em setores primrios e de commodities industriais
17. Isso evidenciado pelo seu apoio mtuo ao presidente do Zimbbue, Robert Mugabe (TAYLOR, 2005).
252 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
tem agravado ainda mais a desigualdade de renda e reforado a estrutura previamen-
te estabelecida na indstria intensiva em capital. Como argumentou Neva Seidman
Makgetla, um economista do Congresso dos Sindicatos do Comrcio sul-africano,
no houve dvida de que para as classes superiores foi uma beno [a forma pela qual
a China ingressou na regio] (...) o problema que se manifestou foi a incapacidade de
gerao de emprego para as classes inferiores da frica do Sul (TIMBERG, 2006).
Na virada do milnio, apenas 13% dos negros sul-africanos estavam empregados no
setor formal da economia se comparados aos 34% de 1970 (TERREBLANCHE,
2002), embora tivesse havido algum crescimento de emprego em 2005 e 2006, antes
do incio da recesso econmica principalmente do setor agrcola (IRIN, 2006b).
As redes de empresas chinesas foram importantes na transformao
industrial de Maurcio, mas a ausncia substancial da migrao da fora de
trabalho chinesa e da criao de um ambiente de polticas de apoio limitou
o impacto dessas redes para o resto do continente (BRUTIGAM, 2003).
No entanto, a realizao de alguns investimentos de setores de fabricao e
servios chineses, cuja motivao foi a possibilidade de atender aos espaos
abertos pelos mercados locais, tem modificado esse cenrio (CARMODY;
HAMPWAYE, 2010). Em Gana, o preo de uma bicicleta importada da
China caiu de US$ 67 para US$ 25 por um perodo de dois anos (THE
ECONOMIST, 2003). Enquanto a margem de lucro para produo de bi-
cicletas permaneceu baixa, ou mesmo negativa em alguns casos, na frica
atingiu o valor de cerca de 10% (KYNGE, 2006). No segmento de motos,
a empresa chinesa Lifan pde vender na Nigria cada unidade por cerca de
US$ 750 dlares ( 6.000 em 2005) valor duas vezes superior ao pago na
China. Por fim, quando Gana superou o consumo per capita de motos da
China (GAUTHIER; HOOK, 2005), uma empresa chinesa transferiu uma
planta produtiva para o primeiro pas.
De acordo com a UNCTAD (2003), o investimento de bicicletas da
China se deveu estratgia de suas empresas de explorar vantagens oferecidas
pelo mercado local. Uma vez no exterior, as empresas transnacionais chinesas
(...) comearam a se aproveitar de sua transnacionalidade credibilidade e
conhecimento do ambiente externo (op.cit., p. 6). Se, em 2005, como apon-
tou Wilson (2005), existia 647 empresas chinesas estatais operando na frica,
em 2007, esse nmero chegou a pelo menos 800. Essas informaes refetem
como a internacionalizao das empresas da China na frica circunscreveu
parte da poltica global chinesa de tornar suas frmas locais corporaes mul-
tinacionais, sendo capazes de competir externamente e aproveitar as oportu-
nidades abertas pela globalizao produtiva.
253 A Expanso da China para a frica: interesses e estratgias
6 LEVIAT CONSOLIDADO? OS IMPACTOS DA EXPANSO CHINESA PARA A
REESTRUTURAO DO ESTADO AFRICANO
Levando-se em considerao que o modelo neoliberal promovido pelos Estados
Unidos procurou dirigir o modo de funcionamento dos Estados africanos, por
meio seja da represso, seja da legitimao ou habilitao de seus governos, a estra-
tgia chinesa tem se caracterizado apenas por habilitar e capacitar esses estados
(CARMODY, 2010). Pelo lado das elites africanas, a opo da China se mostrou
atraente para modernizar e manter o status quo da estrutura de poder, particular-
mente aqueles sujeitos s sanes ocidentais. Pelo lado da China, suas empresas
puderam se benefciar da menor exposio concorrncia dos rivais ocidentais
nesses pases (MARKS, 2006). Como o ministro sudans da energia e minerao
explicou: os chineses so muito agradveis. Eles no se envolvem com poltica ou
problemas internos. As coisas se movem suavemente, com xito (MARKS, 2006).
Na viso de alguns analistas, os estados africanos foram atrados pela es-
tratgia de diversifcao dos investimentos chineses, cuja efetivao se deu por
uma espcie de pacote completo atingido desde o setor de petrleo at a infra-
estrutura diferentemente dos Estados Unidos que no atuaram em uma gama
to extensa de setores. De acordo com o diplomata norte-americano Princeton
Lyman, o Sudo foi um exemplo de quem se aproveitou desse movimento, j que
a China tem fornecido dinheiro, percia tcnica, e a infuncia em rgos como
o Conselho de Segurana das Naes Unidas para proteger o pas de sanes
internacionais (BARTHOLOMEW, 2005). Esse fato explicou porque das 15
mais importantes empresas estrangeiras que operam no Sudo, 13 so chinesas
18
(SERVANT, 2005). A despeito do confito em Darfur e no leste do pas, a entra-
da de IDE no Sudo cresceu 40% em 2005. Em contrapartida, este pas foi res-
ponsvel por cerca de 7% das importaes de petrleo chinesas (BOLIN, 2006;
SUDAN TRIBUNE, 2004). Isto somente foi possvel, como mostra o grfco 4,
a partir de 2000, quando a produo de petrleo do Sudo superou com larga
margem o consumo interno. Em 2008, por exemplo, a produo de petrleo
superou o consumo interno do Sudo em mais de quatro vezes.
18. No entanto, a posio chinesa se tornou mais sutil ao longo da dcada de 2000 (CARMODY; TAYLOR, 2010).
254 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
GRFICO 4
Evoluo da produo, do consumo e das exportaes de petrleo no Sudo 1999-2008
(Em milhares de barris por dia)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Produo Consumo
Exportaes
Fonte: US-EIA (2006). Disponvel em: <http://www.eia.doe.gov/cabs/Sudan/Oil.html>.
Esse crescimento respondeu principalmente ao elevado potencial do pas afri-
cano para atuar como base das operaes petrolferas chinesas no resto do continente
(HO, 2004). Recentemente, o Sudo assumiu o posto de terceiro maior produtor de
petrleo na frica depois de Nigria e Angola (US-EIA, 2006), sem levar em conta
ainda as expectativas de forte aumento da produo exportada nos prximos anos,
por conta da construo de uma usina hidreltrica pela China que dever ampliar
a capacidade do pas na gerao de energia (CRILLY, 2005). Dados recentes j apon-
taram que 60% das exportaes de petrleo do Sudo tm como destino a China.
Alm do petrleo, as empresas chinesas tm atuado no Sudo no segmento
de armas. Com o fornecimento de armas para o regime sudans, essas empresas
construram trs fbricas de armas leves em Cartum, inclusive venderam caas a
jato que permitem proteger os campos de petrleo no sul, onde os chineses tm
interesses substanciais (TAYLOR, 2004). De modo geral, a China considera a
frica como um mercado em crescimento para as exportaes de suas armas.
Nesse sentido, por exemplo, o governo chins vendeu 12 caas supersnicos
para o governo do Zimbbue no fm de 2004, e mais ainda em 2006. Ademais,
vendeu ainda US$ 1 bilho em armas para a Etipia e a Eritreia durante a guerra
de 1998-2000 (MUEKALIA, 2004).
Em relao aos direitos humanos, um ofcial do governo chins ligado ao Mi-
nistrio do Comrcio notou que as importaes chinesas se originaram de todos
os lugares que possuem petrleo, sem restries, e nas palavras de um deputado
do Ministrio das Relaes Exteriores, business are business (FRENCH, 2004).
255 A Expanso da China para a frica: interesses e estratgias
Com efeito, pode-se constatar que a China tem ampliado sua assistncia ao conti-
nente africano sem considerar os aspectos polticos envolvidos.
No Zimbbue, as relaes entre a Unio Nacional Africana do Zimbbue de
Robert Mugabe Zimbabwe African National Union (Zanu) e a China foram forja-
das durante a luta de libertao. Na cpula de comrcio de 2003, como parte de sua
estratgia Olhe para o Leste, o presidente Mugabe pediu para os pases africanos
virarem as costas para o Ocidente e focar nas relaes com a China, pois os chi-
neses respeitavam os pases africanos (LYMAN, 2005). Quando Mugabe visitou
Pequim, o premier chins disse que esperava do Zimbbue a oferta de facilidades
para suas empresas (XINHUA NEWS AGENCY, 2005). Segundo uma fonte ofcial
do governo do Zimbbue, as reclamaes por parte de alguns empresrios chineses
de que os comerciantes locais estavam prejudicando seus negcios explicaram, em
parte, a abominvel Operao Murambatsvina (Restaurar a Ordem) em maio de
2005. O presidente do Zimbbue foi acusado de ter protegido os proprietrios de
lojas chinesas aps o [vice-presidente Joyce Mujuru] ter o informado de seus pro-
blemas (BARTHOLOMEW, 2005, p. 2). Enquanto isso, os chineses j possuam
70% da capacidade de gerao de eletricidade do Zimbbue, com aes nas usinas
de Hwange e Kariba. Ademais, era ilegal dizer zhing zhong produtos chineses de
baixa qualidade no Zimbbue, em especial nas universidades em que os alunos j
estavam aprendendo mandarim (CARROLL, 2006). A sustentao dessa dinmica
depende do modo pelo qual o novo acordo de diviso do poder entre a Zanu e o
Movimento para a Mudana Democrtica (Movement for Democratic Change
MDC) pode afetar a economia e a poltica do Zimbbue, ainda que o presidente
Mugabe esteja assegurado no poder at 2011.
Em suma, enquanto os Estados Unidos classifcaram o Zimbbue e o Sudo
como failed states, a manuteno da estrutura de poder desses pases nas elites tem
sido reforada pela aproximao com a China. No entanto, ao apoiar governos re-
pressores, Pequim tambm tem comprometido sua estabilidade poltica internacio-
nal necessria para estabelecer laos econmicos de longo prazo (TAYLOR, 2004).
A despeito desse fato, os chineses tm estreitado suas relaes com outros
regimes antigos, como Angola. A China tem concedido crdito e importado petr-
leo do pas africano. De um lado, o Export-Import Bank da China (Eximbank da
China) proveu Angola uma linha de crdito de US$ 2 bilhes para reconstruir sua
infraestrutura, como parte de um acordo petrolfero (SERVANT, 2005). De outro
lado, as empresas estatais de petrleo da China, ao lado da British Petroleum (BP),
investiram na criao de joint ventures em Angola a fm de torn-lo o provvel maior
fornecedor de petrleo da China em alguns anos (LYMAN, 2005).
Todavia, em funo do cenrio descrito anteriormente empecilhos para
criar laos de longo prazo , a China pressionou Mendes de Campos Van Dunem
256 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
para renunciar ao cargo de secretrio do Conselho de Ministros da Angola, como
forma de mostrar maior responsabilidade com escndalos polticos de seus par-
ceiros. Isto, porm, no limitou os avanos das parcerias com Angola tanto pelo
interesse chins de sustentar os governos aliados, como pelos ganhos econmi-
cos propiciados por essas parcerias. Foi por isso que, apesar das presses realizadas
para renncia de Van Dunem, parte do emprstimo concedido pela China foi
supostamente para fnanciar a propaganda de campanha do governo reeleio.
No contrato de emprstimo feito com o pas africano, ainda que as empresas
angolanas assumissem 30% dos subcontratos dos projetos, os 70% restantes f-
caram apenas sob responsabilidade das companhias chinesas que, em alguns ca-
sos, somente empregaram trabalhadores do seu pas (ALDEN, 2005b). Acordos
como esse, cujos emprstimos estiveram vinculados aos contratos com empresas
chinesas, tornaram possvel o cancelamento das dvidas dos pases africanos com
o Ocidente (PHILLIPS, 2006).
Os impactos globais do acelerado crescimento econmico chins foi um dos
motivos que levou ao aumento dos preos internacionais do petrleo, possibili-
tando aos governos africanos maior poder de barganha com os pases ocidentais
e as instituies fnanceiras internacionais. Um exemplo foi a mudana na lei do
petrleo do Chade para permitir maior discrio do governo sobre a utilizao das
receitas obtidas com a venda da commodity (BANCO MUNDIAL, 2005). Assim,
o poder estrutural dos pases ocidentais, que at o momento havia tornado possvel
controlar indiretamente os governos africanos por meio das instituies fnanceiras
internacionais, tem sido minado pelo crescimento global do setor de petrleo
na perspectiva de Arrighi (2005, p. 23) esse se caracterizou em um exemplo de
hegemonia ocidental desvendada.
19
Esse espao tem sido ocupado pela China,
ainda que seu elevado nvel de importao de energia 60% do total consumido
internamente deixe o pas refm da boa vontade dos fornecedores de petrleo.
Considerando que a resposta inicial dos estados africanos ao 11 de Setembro
foi balancear a hegemonia dos Estados Unidos, a ascenso da China como um
contrapeso hegemonia norte-americana possibilitou o aprofundamento dessa
estratgia (KRAHMANN, 2005). Mesmo aqueles pases em que os recursos eco-
nmicos importantes eram escassos ganharam poder de barganha com a presena
da China na frica. Quando a Unio Europeia e outras regies suspenderam a
ajuda Repblica Central Africana, exigindo que o governo restabelecesse a or-
dem constitucional, Pequim entrou em cena, custeando todo o servio pblico
daquele pas, uma vez que a Repblica Central Africana facilitaria o acesso aos
campos de petrleo do Chade na fronteira dos dois pases (MAILER, 2005).
19.
Nesse sentido, Einhorn (2006), ex-diretora do Banco Mundial, constatou que essa instituio tem sofrido uma
espcie de crise de legitimidade.
257 A Expanso da China para a frica: interesses e estratgias
O governo etope, que tem sido criticado por causa de irregularidades eleitorais e
fuzilamento de manifestantes, chamou a China de a sua mais confvel parceira
[comercial] (COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS, 2005, p. 39).
At os autocratas de pases onde as empresas petrolferas ocidentais so do-
minantes, como o presidente Teodoro Obiang da Guin Equatorial, tm chama-
do a China de seu mais importante parceiro de desenvolvimento (FINANCIAL
TIMES, 2006, p. 15).
20
As receitas de petrleo tm fortalecido o regime autori-
trio de Obiang. O governo tem conseguido sustentar seu regime poltico apesar
das pssimas condies sociais o gasto com sade, entre 1997 e 2002, foi de
apenas 1,2% do oramento do governo e das presses de instituies multilate-
rais (WOOD, 2004). A Guin Equatorial efetivamente resistiu interferncia e
s sugestes do FMI desde 1995.
Com efeito, o petrleo conseguiu aumentar signifcativamente a rentabili-
dade dos pases africanos,
21
criando e/ou sustentando governos autoritrios com
sistemas polticos monopartidrios. Diferentemente de outras regies, pases
como Zimbbue e Sudo que foram considerados estratgicos pela China em
razo da abundncia de recursos naturais seguiram uma tendncia mais ampla
de fortalecimento dos regimes autoritrios no continente, mesmo que o governo
chins tivesse se distanciado de ambos ao longo de 2000.
7 CONSIDERAES FINAIS
O caso chins confrmou a importncia do Estado Nacional para a execuo de
um conjunto de transformaes estruturais internas. A baixa capacidade de atu-
ao dos estados africanos, em um cenrio em que os fuxos de capitais na re-
gio foram escassos mais de 40% da riqueza privada do continente se situou
no exterior , tornou grande parte dos pases da regio incapaz de realizar essas
transformaes (MKANDAWIRE, 2005). Na questo poltica, tem se colocado
uma crescente necessidade de se desenvolver democracias maduras na frica
(MKANDAWIRE; SOLUDO, 1999). Para reverter esses cenrios, a comunidade
internacional precisa criar mecanismos que facilitem a execuo das mudanas
necessrias no continente africano.
Existiram vrios caminhos que tornaram possvel a construo de um novo
tipo de atuao dos estados africanos. O recente boom das commodities possi-
bilitou a formao de um excedente de renda para ser utilizado em programas
de reduo da pobreza e de melhorias sociais, como observado na frica do Sul
(HIRSCH, 2005). No entanto, somente esse caminho assim como, os outros
20. Isso a despeito das trs maiores companhias de petrleo, que atuam no pas, serem norte-americanas, a saber:
ExxonMobil, Amerada Hess e Marathon Oil.
21.
Para o caso da Nigria, ver Omeje (2005).
258 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
possveis no seria capaz de promover as transformaes estruturais nas econo-
mias do continente, uma vez que a frica historicamente se encontrou em uma
condio de elevada dependncia externa. Nesse sentido, a poltica neoliberal
mais difundida em mbito internacional e que aplica a lei de oferta e demanda
para a sociedade, mostrou-se disfuncional, pois os agentes sociais so completa-
mente distintos dos agentes dos mercados de commodities. Na verdade, a difuso
das polticas de incluso social, em nvel global, poderia assumir um papel mais
relevante para efetivar aquele conjunto de mudanas estruturais. A participao
popular e a implementao de garantias de uma renda de base ou mnima, fnan-
ciada, entre outras formas, pelos impostos em viagens internacionais de avio,
seriam exemplos para construir essas polticas de incluso social.
22
A insero da frica na globalizao, por um lado, representou volumes ex-
pressivos de fugas de capital produtivo e fnanceiro, tais como o deslocamento
de plantas produtivas por meio do comrcio internacional e a sada de recursos
via investimentos e dvidas. Por outro lado, signifcou a entrada de poucos fuxos
de IDE na indstria ou no setor de servios principalmente informao e tec-
nologia de comunicao.
23
A fm de alterar esse quadro e permitir a realizao daquelas transformaes
polticas e econmicas, pareceu ser necessria mais articulao produtiva interre-
gional principalmente com a sia, tendo os chineses como destaque , como
discutido previamente no caso das bicicletas, tendo em vista que a China deve
transferir, nos prximos 10 a 20 anos, uma parcela cada vez maior de suas ativi-
dades intensivas em mo de obra. Um primeiro exemplo foi a BMW na frica do
Sul produtora de todas as trs sries mundiais que vendeu milhes de dla-
res em componentes para sua flial chinesa (MATSHEGO, 2004).
24
Outro caso,
apontado por um grande estudo do Banco Mundial, foram os investimentos asi-
ticos em vesturio, processamento de alimentos e outros subsetores que se torna-
ram propulsores do comrcio africano com redes de corporaes multinacionais
(BROADMAN, 2007, p. 2). Alm da articulao produtiva, a maior orientao
dos investimentos para desenvolver sistemas de inovao (trans)nacionais tam-
bm emergiu como outro aspecto central para impulsionar o crescimento da pro-
duo nos pases africanos (MUCHIE; GAMMELTOFT; LUNDVALL, 2003).
A opo de colocar tarifas negativas ou subsdios s importaes de ma-
nufaturas da frica oriundas de pases desenvolvidos no conseguiu adquirir legi-
timidade poltica, em termos globais, pelo fato de distorcer as regras de mercado
22. O governo francs j introduziu este imposto de solidariedade para nanciar intervenes de cuidados em sade primrios.
23. Embora isso esteja mudando com a propagao de telefones celulares: mais de 400 milhes de usurios, na ltima
contagem, e cabos de bra ptica conectam o continente, o que tem permitido aos call centers se instalarem na frica
do Sul e em Gana. Na frica do Sul mais de 80 mil pessoas esto empregadas neste setor (BENNER, 2006).
24. Os conglomerados sul-africanos tm investido na produo de cerveja e zinco na China.
259 A Expanso da China para a frica: interesses e estratgias
propagadas pelo neoliberalismo. Na viso de Craig e Porter (2006), uma abor-
dagem alternativa seria expandir a estratgia do governo chins de oferecer um
leque de concesses para seus negcios serem instalados em reas da frica ou em
outros lugares considerados estratgicos em direo aos outros mercados como
forma de ampliar os recursos destinados reduo da pobreza.
Existe tambm um potencial em reas que ainda no foram substancial-
mente exploradas. No plano internacional, aquisies por parte dos governos de
pases desenvolvidos de fabricantes africanos, desde papis a uniformes de polcia,
poderiam exercer importante papel catalisador, abrindo novos nichos para atua-
o do mercado externo. Tal estmulo criaria competio e efcincia, sendo assim
compatvel, em mdio prazo, com as regras de mercados.
Embora se argumentasse que essas estratgias teriam a capacidade de es-
praiar os benefcios do crescimento econmico africano, at o presente momento
notou-se que as classes mais altas e/ou elites se apropriaram da maior parte do au-
mento da renda gerado na frica. Alm disso, mesmo que a comunidade interna-
cional tivesse desempenhado um papel fundamental para acabar com as guerras
na Libria, em Serra Leoa e na Repblica Democrtica do Congo, entre outros,
os investimentos estrangeiros em petrleo alimentaram confitos locais e fzeram
de muitos pases menos responsveis perante suas populaes.
Por fm, outra questo-chave para acelerar o desenvolvimento do continente
residiu na transio dos estados africanos autoritrios/patrimonialistas para os
estados desenvolvimentistas. Possivelmente, isso no seja de interesse das maiores
potncias globais, uma vez que seus estados explicitaram o interesse em assegurar
os recursos naturais obtidos na frica em vez de coloc-los em disputa no plano
internacional. Apesar do seu subdesenvolvimento, segundo o governo dos Esta-
dos Unidos, a frica deve ser a nica regio do mundo onde a produo lquida
tende a crescer a taxas mais elevadas do que o consumo interno 91% e 35%,
respectivamente, entre 2001 e 2005 (KLARE, 2005). Esse fato, alm de outros da
mesma natureza, motivou e tem motivado a manuteno da atual estratgia
dos pases estrangeiros e, como resultado, o aumento dos confitos e a deteriora-
o das condies sociais do continente. A despeito disso, at agora esses pases se
mostraram dispostos a pagar esse preo para sustentar essa estratgia formulada
para o continente africano.
REFERNCIAS
ADABA, G. Te decent work agenda and achieving the millennium development
goals. In: INTERNATIONAL CONGRESS OF FREE TRADE UNIONS.
New York: Trade Union Seminar, 12 Sept. 2005.
260 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
ADSN, J. Development and the challenge of poverty: NEPAD, post-
Washington Consensus and beyond. In: ADSN, J; GRAHAM, Y.;
OLOKUSHI, A. (Ed.). Africa and development: challenges in the new
millennium: the NEPAD debate. London; New York: Zed, 2006.
AFRICAN DEVELOPMENT BANK. African Development Report 2003.
Oxford; New York: Oxford University Press, 2003.
AFRICAN OIL POLICY INITIATIVE GROUP. African Oil: A Priority for U.S.
National Security and African Development. Institute for Advanced Strategic and
Policy Studies, 2001.
AGNEW, J.; CORBRIDGE, S. Mastering space: hegemony, territory and
international political economy. Oxford, UK: Routledge, 1995.
ALDEN, C. China in Africa. Survival, v. 47, n. 3, p. 147-164, 2005a.
______. Leveraging the dragon: towards an Africa that can say no. E-Africa:
Te Electronic Journal of Governance and Innovation, n. 3, p. 6-9, Feb. 2005b.
ARRIGHI, G. Hegemony unravelling. New Left Review, n. 32, p. 23-80, Mar./
Apr. 2005. Disponvel em: <http://newleftreview.net>. Acesso em: 12 ago. 2006.
ASIANEWS. Chinese textile tsunami hits Africa and Asia. AsiaNews.it, Beijing,
26 Apr. 2004. Disponvel em: <http://www.asianews.it/news-en/Chinese-textile-
-tsunami-hits-Africa-and-Asia-3145.html>. Acesso em: 11 ago. 2006.
BANCO MUNDIAL. World Bank Statement on Changes to Chad Petroleum
Law. Washington, DC, 2005. Disponvel em: <www.worldbank.org>. Acesso
em: 10 ago. 2006.
BARTHOLOMEW, C. U. S. China economic and security review commission
hearings on Chinas infuence in Africa. 28 July 2005. Disponvel em: <www.
uscc.gov>. Acesso em: 9 ago. 2006. Testimony at the US House of Representatives
Committee on International Relations, Subcommittee on Africa, Global Human
Rights and International Operations.
BERI, R. Africas energy potential: prospects for India. Strategic Analysis,
v. 29, n. 3, p. 370-394, 2005.
BENNER, C. South Africa On-Call: information technology and labour restructuring
in South African call centres. Regional Studies, v. 40, n. 9, p. 1025-1040, 2006.
BLAIR, T. Faith and globalisation. London: Westminister Cathedral, 3 Apr.
2008. Lecture. Disponvel em: <http://www.tonyblairofce.org/speeches/entry/
tony-blair-faith-and-globalisation-lecture/>.
BOLIN, L. Africa FDI at record $29bn. Te Sunday Times, London, 24 Jan. 2006.
Disponvel em: <www.sundaytimes.co.za>. Acesso em: 11 ago. 2006.
261 A Expanso da China para a frica: interesses e estratgias
BOND, P. Looting Africa: the economics of exploitation. London: Zed, 2006.
BOTHA, P. J. China Inc: An Assessment of the implications for Africa:
New diplomatic initiatives. In: MILLS, G.; SKIDMORE, N. (Ed.). Towards
China Inc? Assessing the implications for Africa. Johannesburg: South African
Institute of International Afairs, 2004.
BOYCE, J. K.; NDIKUMANA, L. Is Africa a net creditor? New estimates of
capital fight from severely indebted Sub-Saharan African countries, 1970-1996.
Te Journal of Development Studies, v. 38, n. 2, p. 27-56, 2001.
BRADLEY, M. T. Te other: precursory African conceptions of democracy.
International Studies Review, v. 7, n. 3, p. 407-431, Oct. 2005.
BRUTIGAM, D. Close encounters: Chinese business networks as industrial catalysts
in Sub-Saharan Africa. African Afairs, v. 102, n. 408, p. 447-467, July 2003.
______. Te dragons gift: the real story of China in Africa. Oxford and New
York: Oxford University Press, 2009.
BRESLIN, S. China and the Global Political Economy. Basingstoke, UK:
Palgrave Macmillan, 2009.
BROADMAN, H. G. Africas Silk Road: China and Indias New Economic
Frontier. Washington, DC: World Bank, 2007.
BROWN, L. Chinas shrinking grain harvest: how its growing grain imports
will afect world food prices. Mar. 10, 2004. Disponvel em: <www.earthpolicy.
org>. Acesso em: 11 ago. 2006
CARMODY, P. Globalization in Africa: recolonization or renaissance?
Boulder CO; London: Lynne Rienner, 2010.
______. Te New Scramble for Africa. Oxford: Polity, 2011.
CARMODY, P.; HAMPWAYE, G. Inclusive or Exclusive Globalization? Zambias
Economy and Asian Investment. Africa Today, v. 56, n. 3, p. 85-102, 2010.
CARMODY, P.; TAYLOR, I. Flexigemony and Force in Chinas Resource Diplomacy
in Africa. Geopolitics, v. 15, n. 3, p. 1-20, 2010.
CARROLL, R. Chinas goldmine. Te Guardian, London, 28 Mar. 2006.
Disponvel em: <http://www.guardian.co.uk>. Acesso em: 12 ago. 2006.
CHINA DAILY. China, S. Africa to launch free trade talks. Beijing: 7 Jan. 2004.
Disponvel em: <http://www2.chinadaily.com.cn>. Acesso em: 10 ago. 2006.
CLAPHAM, C. Africa in the International System: the politics of state
survival. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
262 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
______. Introduction. International Afairs, v. 81, n. 2, p. 275-279, 2005.
CONFERNCIA DAS NAES UNIDAS SOBRE COMRCIO E
DESENVOLVIMENTO (UNCTAD). China: an emerging FDI outward
investor. E-brief, 4 Dec. 2003.
COULSON, A. Tanzania: a political economy. Oxford: Clarendon, 1982.
COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS. More than humanitarianism: towards
a strategic U.S. approach toward Africa. Washington, DC: CFR, 2005.
CRAIG, D.; PORTER, D. Development beyond neoliberalism: governance,
poverty reduction and political economy. London: Routledge, 2006.
CREAMER, T. Setting the criteria for industry selection. Policy and Law News
Online, Johannesburg, 9 Dec. 2005. Disponvel em: <http://www.polity.org.za>.
Acesso em: 20 jul. 2006.
CRILLY, R. What are the politics behind Chinas race to develop Sudan?
Irish Times, Dublin, 24 Nov. 2005.
DICKEN, P. Global Shift: transforming the world economy. New York:
Guilford Press, 1998.
DIXON, R. Africans Lash Out at Chinese Employers. Los Angeles Times, 6
Oct. 2006. Disponvel em: <http://www.latimes.com>. Acesso em: 12 out. 2006.
DOBLER, G. Solidarity, xenophobia and the regulation of chinese businesses in
Namibia. In: ALDEN, C.; LARGE, D.; OLIVEIRA, D. (Ed.). China returns to
Africa: a rising power and a continent embrace. London: Hurst, 2008. p. 237-256.
DONINI, A. Surfng on the crest of the wave until it crashes: intervention and the
South. Te Journal of Humanitarian Assistance, Medford, MA, 3 Oct. 1995.
<http://www.jha.ac/articles/a006.htm>. Acesso em: 31 jul. 2005.
DUMAS, C.; CHOYLEVA, D. Te bill from the China shop: how Asias savings
glut threatens the world economy. London: Profle Books, 2006.
ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT. Business Africa. Economist Intelligence
Unit, London, v. 2, Sept. 1
st
-15
th
2002.
EFANDE, P. China cancels Africas debts. Te Tribune, Cameroon, 17 Dec. 2003.
EINHORN, J. Reforming the World Bank: creative destruction. Foreign
Affairs, v. 85, n. 1, Jan./Feb. 2006.
ELLIS, R. E. U.S. National Security Implications of Chinese Involvement in Latin
America. Carlisle, PA: Strategic Studies Institute; US Army War College, 2005.
263 A Expanso da China para a frica: interesses e estratgias
FINANCIAL TIMES. Friend or forager? How China is winning resources and
the loyalties of Africa. London, Feb. 23, 2006.
FRENCH, H. W. China in Africa: all trade, with no political baggage. New
York Times, New York, 8 Aug. 2004. Disponvel em: <www.globalpolicy.org>.
Acesso em: 10 jun. 2006.
______. China wages classroom struggle to win friends in Africa. New York Times,
20 Nov. 2005. Disponvel em: <http://www.nytimes.com>. Acesso em: 17 jun. 2006.
FUNDO MONETRIO INTERNACIONAL (FMI). Direction of Trade
Statistics. Washington, DC, 2009. Disponvel em: <www.imf.org>.
______. World Economic Outlook. Washington, DC, 2010. Disponvel em:
<www.imf.org>.
GARY, I.; KARL, T. L. Bottom of the barrel: Africas oil boom and the poor. Catholic
Relief Services, Baltimore, June 2003. Disponvel em: < http://advocacydays.org/
tracks/economic/ead-africas-oil-boom.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2006.
GAUTHIER, A.; HOOK, W. Tapping the market for quality bicycles in Africa.
Sustainable Transport, n. 17, p. 8-11/30, Winter 2005.
GIBBON, P. Te African growth and Opportunity Act and the global commodity
chain for clothing. World Development, v. 31, n. 11, p. 1809-1827, 2003.
GIBBON, P.; PONTE, S. Trading down: Africa, value chains and the global
economy. Philadelphia: Temple University Press, 2005.
GLOSNY, M. A. Stabilizing the backyard: recent developments in Chinas policy
toward Southeast Asia. In: EISENMAN, J.; HEGINBOTHAM, E.; MITCHELL,
D. (Ed.). China and the developing world: Beijings strategy for the twenty-frst
century. London, ME: Sharpe, 2007. p. 150-188.
GUIXAN, L. Perspectives on China-Africa trade and economic cooperation. In:
TSWALU DIALOGUE, 4. South Africa, 9 May 2005. Disponvel em <www.
chinese-embassy.org.za>. Acesso em: 12 ago. 2006. Presentation by Minister
Counsellor Liang Guixan.
HARVEY, D. A brief history of neoliberalism. Oxford; New York: Oxford
University Press, 2005.
HILSUM, L. Te Chinese are coming. New Statesman, London, 4 July 2005.
Disponvel em: <http://www.newstatesman.com>. Acesso em: 12 ago. 2006.
______. We love China. Granta, n. 92, Jan. 2006. Disponvel em: <www.granta.
com>. Acesso em: 10 ago. 2006.
264 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
HIRSCH, A. Season of hope: economic reform under Mandela and Mbeki.
Durban: University of Kwa-Zulu Natal Press, 2005.
HO, S. Chinas oil imports from Sudan draw controversy. Te Epoch Times, 21
July 2004. Disponvel em: <http://english.epochtimes.com>. Acesso em: 10 ago. 2006.
INTEGRATED REGIONAL INFORMATION NETWORKS (IRIN). Lesotho:
textiles no longer hanging by a thread. Johannesburg, 3 July 2006a. Disponvel em:
<www.irinnews.org>. Acesso em: 11 ago. 2006.
______. South Africa: jobs up, but numbers not high enough-economists.
Johannesburg, 28 Sept. 2006b. Disponvel em: <www.irinnews.org>. Acesso
em: 17 out. 2006.
JAMES, J. Technology, globalization and poverty. Cheltenham: Edward Elgar, 2002.
JENKINS, R.; EDWARDS, C. Te efect of China and Indias growth and
trade liberalisation on poverty in Africa. London: Institute for Development
Studies/Enterplan, 2005.
KLARE, M. Blood and Oil: how Americas thirst for petrol is killing us. London:
Penguin, 2005.
KRAHMANN, E. American hegemony or global governance? Competing visions
of international security. International Studies Review, v. 7, p. 531-545, 2005.
KRAXBERGER, B. Te United States and Africa: shifting geopolitics in an
Age of Terror. Africa Today, v. 52, n. 1, p. 47-71, 2005.
KYNGE, J. China shakes the world: the rise of the hungry nation. London:
Weidenfeld and Nicolson, 2006.
LEIGH, D. UK backs oil frm despite bribery inquiry: Halliburton arm gets
$10m DTI loan guarantee. Te Guardian, London, 21 June 2005.
LUFT, G. Africa drowns in a pool of oil. LA Times, 1
o
July 2003. Disponvel em:
<http://www.iags.org/la070103.htm>. Acesso em: 31 jul. 2006.
LYMAN, P. Chinas rising role in Africa. Washington, DC, 21 July 2005.
Presentation to the US-China Commission. Disponvel em: <http://www.cfr.
org>. Acesso em: 18 jul. 2006.
MAILER, G. China in Africa: economic gains, democratic problems.
The Henry Jackson Society, London, 9 May 2005. Disponvel em: <http://
www.henryjacksonsociety.org/stories.asp?id=220>. Acesso em: 25 jun. 2011.
MARKS, S. China in Africa Te new imperialism. Pambuzuka News,
Oxford, n. 244, 2 Mar. 2006. Disponvel em: <http://www.pambazuka.org/>.
Acesso em: 10 ago. 2006.
265 A Expanso da China para a frica: interesses e estratgias
______. Introduction. In: MANJI, F; MARKS, S. (Ed.). African perspectives
on China in Africa. Cape Town, South Africa: Fahamu, 2007. p. 1-14.
MATSHEGO, I. South African trade and investment trends in East Asia. In: MILLS,
G.; SKIDMORE, N. (Ed.). Towards China Inc? Assessing the implications for
Africa. Johannesburg: South African Institute of International Afairs, 2004.
MAWDSLEY, E. Fu Manchu versus Dr. Livingstone in the dark continent? How
British broadsheet newspapers represent China, Africa and the West. Political
Geography, v. 27, n. 5, p. 509-529, 2008.
MELVILLE, C.; OWEN, O. China and Africa: a new era of south-south cooperation.
OpenDemocracy, London, 7 July 2005. Disponvel em: <www.opendemocracy.net>.
Acesso em: 10 ago. 2006.
MEREDITH, M. Te State of Africa. New York: Free Press, 2005.
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE PEOPLES REPUBLIC OF
CHINA. China-Africa relations. Beijing, 25 Apr. 2002. Disponvel em: <http://
www.fmprc.gov.cn/eng/wjb/>. Acesso em: 13 ago. 2006.
MKANDAWIRE, T. Te global economic context. In: WISNER, B.; TOULMIN,
C.; CHITIGA, R. (Ed.). Towards a new map of Africa. London: Earthscan, 2005.
MKANDAWIRE, T.; SOLUDO, C. Our continent, our future: African voices
on structural adjustment. Trenton, NJ: Africa World Press, 1999.
MUCHIE, M.; GAMMELTOFT, P.; LUNDVALL, B. Putting Africa frst: the
making of African innovation systems. Aalborg: Aalborg University Press, 2003.
MUEKALIA, D. J. Africa and Chinas strategic partnership. African Security
Review, v. 13, n. 1, p. 5-12, 2004. Disponvel em: < http://www.issafrica.org/
pubs/ASR/13No1/F1.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2005.
NYE, J. Te paradox of American power: why the worlds only superpower cant
go it alone. Oxford; New York: Oxford University Press, 2002.
OCONNOR, A. Te persistence of poverty. In: POTTS, D.; BOWYER-BOWER,
T. (Ed.). Eastern and Southern Africa: development challenges in a volatile region.
Harlow: Pearson and Prentice Hall, 2004.
OMEJE, K. Oil confict in Nigeria: contending issues and perspectives of the local
Niger Delta People. New Political Economy, v. 10, n. 3, p. 322-334, 2005.
NIS, Z. Te logic of the developmental state. Comparative Politics, v. 24,
n. 1, p. 109-26, 1991.
OWUSU, F. Post-9/11 U.S. Foreign aid, the millennium challenge account and Africa:
How many birds can one stone kill? Africa Today, v. 54, n. 1, p. 1-26, Fall 2007.
266 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
PAN, E. China, Africa and Oil. Council on Foreign Relations. 2006. Disponvel
em: <www.cfr.org>. Acesso em: 12 jul. 2006.
PAYNE, R. J.; VENEY, R. C. Chinas post-cold war African policy. Asian Survey,
v. 38, n. 9, p. 867-879, 1998.
PEOPLES DAILY ONLINE. Chinese vice president calls for win-win
China-Africa cooperation. Beijing, 30 June 2004. Disponvel em: <http://
english.people.com.cn>. Acesso em: 11 ago. 2006.
PHILLIPS, M. Chinas Africa loans raise G-7 ire: allies to slam lenders
extending high-priced credit to poor nations. The Wall Street Journal Asia,
Hong Kong, 15 Sept. 2006. Disponvel em: <http://awsj.com.hk/factiva-ns>.
Acesso em: 31 out. 2006.
RAINE, S. Chinas African challenges. Oxford: Routledge and International
Institute for Strategic Studies, 2009.
RIBEIRO, C. O. Brazils new African policy: the experience of the Lula government
(2003-2006). World Afairs, v. 13, n. 1, Spring 2009.
ROTBERG, R. I. Te Horn of Africa and Yemen: Diminishing the Treat from
Terrorism. In: ROTBERG, R. I. (Ed.). Battling Terrorism in the Horn of
Africa. Washington, DC: Brookings/WPF, 2005.
SERVANT, J. C. Chinas Trade Safari in Africa. Le Monde Diplomatique, May
2005. Disponvel em: <http://mondediplio.com>. Acesso em: 10 jul. 2006.
SOUTH AFRICAN DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS. Beijing
programme for China-Africa cooperation in economic and social development. Pre-
toria, 12 Oct. 2000. Disponvel em: <http://www.dfa.gov.za>. Acesso em: 10 ago. 2006.
SOUTHALL, R.; MELBER, H. (Ed.). A New Scramble for Africa?
Imperialism, Investment and Development. Durban, South Africa: University
of KwaZulu-Natal, 2009.
SUDAN TRIBUNE. Chinas oil ties to Sudan force it to oppose sanctions.
Beijing, 20 Oct. 2004. Disponvel em: <www.sudantribune.com>. Acesso
em: 11 ago. 2006.
TAYLOR, I. Chinas foreign policy towards Africa in the 1990s. Journal of Modern
African Studies, v. 36, n. 3, p. 443-460, 1998.
______. Te all-weather friend? Sino-African interaction in the twenty-frst
century. In: TAYLOR, I.; WILLIAMS, P. (Ed.). Africa in international politics:
external involvement in the continent. London: Routledge, 2004.
267 A Expanso da China para a frica: interesses e estratgias
______. NEPAD: towards Africas development or another false start? Boulder:
CO, Lynne Rienner, 2005.
______. Chinas new role in Africa. Boulder, CO: Lynne Rienner, 2009.
TERREBLANCHE, S. South Africa: a history of inequality in South Africa
1652-2002. Scottsville; Sandton: KMM and University of Natal Press, 2002.
THE ECONOMIST. Does Your Strategy Target 45% of Global GDP.
New York, 4 Mar. 2006. p. 73.
______. Is the wakening giant a monster? New York, 13 Feb. 2003. Disponvel em:
<www.economist.com>. Acesso em: 12 ago. 2006.
THOMPSON, D. Economic growth and soft power: Chinas Africa strategy.
China Brief, v. 4, n. 24, 2004. Disponvel em: <www.jamestown.org>.
Acesso em: 12 ago. 2006.
TIMBERG, C. In Africa, China trade brings growth, unease. Te Washington
Post, Washington, DC, 13 June 2006. Disponvel em: <www.washingtonpost.
com>. Acesso em: 16 jun. 2006.
UNITED NATIONS WORLD TOURISM ORGANIZATION (UNWTO).
Study on Chinese Outbound Travel to Africa. Madrid, 2010.
UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE. U.S.-African Trade
Profle. Washington: DC, 2005.
UNITED STATES ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION
(US-EIA). Sudan Oil Statistics. Washington, DC, 2006. Disponvel em:
<http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Sudan/Oil.html>. Acesso em: 12 set. 2009.
VAN DER LUGT, S. et al. Assessing Chinas role in foreign direct investment
in Southern Africa. Oxfam Hong Kong; Center for China Studies, Mar. 2011.
XINHUA NEWS AGENCY. Premier: Zimbabwe is Chinas key partner.
China.org.cn, 28 Jul. 2005. Disponvel em: <www.china.org.cn/english>.
Acesso em: 11 Ago. 2006.
WILSON, E. J. Chinas infuence in Africa: implications for U.S. Policy.
Testimony before the Sub-Committee on Africa, Human Rights and International
Operations, US House of Representatives, Washington DC, 28 July 2005.
WOOD, G. Business and politics in a criminal state: the case of Equatorial Guinea.
African Afairs, v. 103, n. 413, p. 547-568, 2004.
YU, G. T. Africa in Chinese foreign policy. Asian Survey, v. 28, n. 8, p. 849-862, 1988.
CAPTULO 7
CHINA E AMRICA LATINA NA NOVA DIVISO INTERNACIONAL
DO TRABALHO*
Alexandre de Freitas Barbosa**
1 INTRODUO
O presente texto procura traar um panorama das relaes econmicas entre a
China e os pases da Amrica Latina no incio do sculo XXI. Parte-se da premis-
sa de que a ascenso chinesa, ao reorganizar a diviso internacional do trabalho,
impe novos dilemas estruturais para os pases latino-americanos, com impactos
sobre a agenda do desenvolvimento.
A seo 2 deste texto contrape as estratgias de desenvolvimento da China
e dos pases latino-americanos durante os anos 1990. O contraste entre as duas
opes de insero externa nos permite compreender como e porque as relaes
entre a China e a Amrica Latina adquirem pronunciada relevncia a partir da
primeira dcada deste sculo. Vale lembrar que justamente neste cenrio de
ascenso chinesa que as economias latino-americanas voltam a apresentar dina-
mismo econmico, pelo menos at a crise internacional, que se faz sentir sobre a
regio desde fns de 2008.
A seco 3 apresenta um quadro de evoluo das relaes econmicas em
termos comerciais e de fuxo de capitais entre a China e a Amrica Latina, to-
mada em conjunto, durante o perodo 1998-2008.
A seo 4 discorre sobre as especifcidades das relaes econmicas desenvol-
vidas entre os vrios pases da regio e a China. Prope-se uma tipologia para dar
conta da diversidade das relaes comerciais dos pases da regio com a China,
partindo do mtodo histrico-estruturalista desenvolvido por Furtado (1986).
*
Este texto uma elaborao terica a partir dos resultados da pesquisa desenvolvida no mbito do projeto Made
in China: oportunidades e ameaas da ascenso global da China para os trabalhadores latino-americanos da Rede
Latino-Americana de Pesquisa em Empresas Multinacionais (RedLat), sob a coordenao do autor.
**
Professor de Histria Econmica do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de So Paulo (IEB/USP) e doutor
em Economia Aplicada pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas (IE/UNICAMP).
270 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
Na seo 5 procura-se discutir como os vrios desafos nacionais permitem
recolocar a problemtica do desenvolvimento regional a partir de uma perspectiva
infuenciada pelas ideias cepalinas, considerando o fator geopoltico para alm da
dimenso meramente econmica.
2 CHINA E AMRICA LATINA: TRAJETRIAS MACROECONMICAS COMPARA-
DAS DESDE 1990
Durante os anos 1990, as trajetrias macroeconmicas da Amrica Latina e da
China apresentaram comportamentos divergentes. Se, por um lado, ambas as re-
gies aumentaram seu grau de vinculao economia internacional, pode-se afr-
mar que as suas polticas de insero foram acionadas por meio de um conjunto
de premissas e polticas bastante diversas, no limite, quase antagnicas.
Em primeiro lugar, o que se destaca quando se contrapem as duas econo-
mias o ritmo de expanso. No perodo 1990-2002, a renda per capita chinesa se
expandiu quase 10 vezes frente da mdia latino-americana, 8,8% contra 0,9%
ao ano (a.a.) grfco 1.
Esse dinamismo da economia chinesa esteve ancorado em altas taxas de in-
vestimento, as quais se explicam pela expanso das exportaes, pelo alto nvel do
gasto pblico e pela expanso do mercado interno cujo potencial est longe de
se esgotar em um contexto de extrema cautela quanto liberalizao do merca-
do de capitais e de moeda razoavelmente desvalorizada (LO, 2006).
Paralelamente, a liberalizao comercial se realizou de forma paulatina,
tanto que aps sua entrada na Organizao Mundial do Comrcio (OMC), em
2001, os supervits comerciais se expandiram de forma relevante. Em 2006, a
China j participava com 10% das exportaes mundiais de bens manufaturados,
contra cerca de 4% para o total da Amrica Latina, segundo dados da OMC.
A China conseguiu durante os anos 1990 aprimorar sua pauta de exporta-
o, alcanando os bens manufaturados, 93% do total. Entre estes produtos, 44%
provm dos setores de maquinaria e equipamentos eletrnicos e comunicaes,
considerados de mdia e alta tecnologia segundo dados da OMC para 2008.
Isto , nesse perodo, presenciou-se uma mudana no perfl das exportaes in-
dustriais, antes concentradas em produtos de baixo valor agregado como txtil
e confeces , para uma gama cada vez mais diversifcada de bens de consumo e
de capital, que, de 20% em 1990, passaram a representar mais de 50% das expor-
taes industriais chinesas (YIN, 2006).
271 China e Amrica Latina na Nova Diviso Internacional do Trabalho
GRFICO 1
Crescimento mdio anual do produto interno bruto (PIB) per capita China e Amrica
Latina
0
2
4
6
8
10
12
China Amrica Latina 1990 -2002 2003-2008
Fontes: Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e Comisso Econmica para a Amrica Latina e o
Caribe (Cepal).
Elaborao do autor.
Essa transformao estrutural se fez sentir sobre o perfl da produo in-
dustrial interna. Particularmente a partir de 2002, o crescimento chins passou
a depender de forma crescente do investimento (WONG, 2007). A formao
bruta de capital fxo absorveu 38% da demanda chinesa, seguida pelo consumo
(36%) e, em ltimo lugar, pelas exportaes lquidas (26%). Segundo Lo (2007),
trata-se de um novo padro de crescimento associado um rpido incremento
tecnolgico e aos ganhos crescentes de escala.
Na Amrica Latina, por sua vez, verifca-se uma racionalizao produtiva
com desintegrao vertical e aumento de contedo importado, especialmente nos
segmentos mais dinmicos do comrcio e de maior produtividade. Como resul-
tado, obtm-se um duplo processo de concentrao das exportaes em produtos
intensivos em recursos naturais e de generalizao das maquiladoras, as quais se
destacam pelas exportaes de manufaturados com baixo valor agregado no mer-
cado interno (CIMOLI; KATZ, 2002).
Ainda que esta dupla tendncia tenha acometido os pases da regio em v-
rios nveis, interessa-nos ressaltar que as experincias de reestruturao produtiva
e insero externa seguiram trajetrias diferentes. Isto se deve, em alguma medi-
da, s experincias pregressas de industrializao.
272 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
Mas tambm ao fato de que a reestruturao industrial apresentou vrios estilos na
regio: desindustrializao com reorientao para o exterior no Chile, integrao radical
em direo ao norte no Mxico, desofsticao exportadora na Argentina, e posio
defensiva no Brasil (BIELSCHOWSKY; STUMPO, 1995). Paralelamente, as decises
das empresas transnacionais na regio variaram segundo a natureza do ajuste, a dimen-
so dos respectivos mercados internos e as opes em termos de acordos comerciais.
Partindo de dados do Comtrade, da Organizao das Naes Unidas
(ONU), para a primeira metade dos anos 2000, pode se constatar a irrelevncia
das exportaes latino-americanas, exceto no caso de commodities e combustveis,
onde a regio respondia, respectivamente, por 11,5% e 9% das exportaes mun-
diais. Para os produtos manufaturados, observa-se a posio marginal da Amrica
Latina, que contribui com uma porcentagem que oscila entre 4% e 5% nas ma-
nufaturas intensivas em recursos naturais e de baixa e mdia tecnologia, enquanto
que para as de alta tecnologia, a regio responde por 3,4% das vendas mundiais.
Essa crescente especializao do perfl das exportaes latino-americanas
apesar das diferenas expressivas entre os vrios pases resulta, em grande medi-
da, da estratgia de liberalizao econmica implementada na regio durante os
anos 1990. Reforando esta tendncia, durante o perodo, exceo do Mxico,
os investimentos diretos passaram a se concentrar no setor de servios, o qual foi
favorecido pelo processo de privatizao ento em curso na regio.
Em contraste, a poltica chinesa de atrao de transnacionais favorece o mo-
delo de joint ventures com empresas nacionais. Apesar do papel estratgico destas
empresas na economia chinesa, elas contribuem com somente 5% da formao
bruta de capital do pas e com 30% da produo de manufaturados, trs quintos
dos quais esto direcionados para o mercado interno (LARDY, 2006). Ou seja, o
mercado externo e os investimentos externos so estratgicos especialmente porque
realimentam um processo de acumulao de capital cuja dinmica endgena.
A diferena essencial entre as duas regies econmicas parece residir no nexo
entre exportaes e investimentos, que permitiu ampliar a capacidade produtiva
na China, contribuindo inclusive para o fortalecimento do mercado interno, en-
quanto na Amrica Latina a volatilidade cambial em virtude da rpida abertura
comercial e fnanceira impossibilitou a viabilizao deste nexo, trazendo uma
brusca oscilao nas taxas de crescimento e investimentos.
Segundo as categorias traadas pela Conferncia das Naes Unidas sobre Co-
mrcio e Desenvolvimento (UNCTAD, 2003), a China pode ser classifcada como
um pas de industrializao rpida, que presencia uma transformao estrutural
de sua base produtiva em direo aos setores de maior produtividade relativa. J a
Amrica Latina compe a periferia capitalista em processo de desindustrializao
precoce, ainda que o caso brasileiro no se encaixe perfeitamente nessa tipologia.
273 China e Amrica Latina na Nova Diviso Internacional do Trabalho
GRFICO 2
Participao da indstria de transformao no PIB por grupos de pases
(Em %)
10
15
20
25
30
35
40
45
1960 1970 1980 1990 2000
Pases Desenvolvidos China Amrica Latina
Fonte: UNCTAD.
Elaborao do autor.
Na Amrica Latina, a perda de participao da produo industrial no se
deu em virtude da transformao da estrutura produtiva de modo a incorporar
servios agregadores de valor, como no caso dos pases desenvolvidos, mas sim em
virtude do encolhimento da base industrial herdada durante o modelo de indus-
trializao por substituio de importaes.
J no caso chins, a indstria de transformao, cada vez mais diversifcada,
representa 35% do PIB (grfco 2), alavancando a expanso dos setores de servios,
haja vista que no setor agrcola predomina um vasto conjunto de atividades de
baixssima produtividade, por mais que despontem algumas ilhas de excelncia.
Ora, quando se observam os dados da OMC para 2008 somente para produ-
tos de maquinaria e equipamentos eletrnicos e de telecomunicaes, chega-se a um
saldo comercial chins de US$ 165 bilhes valor prximo ao total das exportaes
brasileiras no mesmo ano, o que nos oferece algum parmetro de comparao.
O quadro geral est apresentado no grfco 3. A China conta com um saldo
comercial total nos produtos industriais de US$ 600 bilhes, respondendo os
Estados Unidos e a Unio Europeia por quase 60% deste total. O grupo Japo,
Coreia do Sul e Taiwan responde por um dfcit de quase US$ 150 bilhes, ao
passo que Hong Kong cumpre o papel de centro de distribuio para o resto do
mundo (grfco 3). Isto signifca que a China ativa as cadeias produtivas de boa
parte das importantes economias do Leste Asitico (MEDEIROS, 2006).
274 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
Ao mesmo tempo, percebe-se a pouca relevncia do mercado latino-ameri-
cano para a China, pelo menos at o momento. Por exemplo, o supervit comer-
cial chins nos produtos industrializados com os Estados Unidos ou com a Unio
Europeia quatro vezes maior do que o obtido com a Amrica Latina. Deve-se
considerar que como existe um fuxo importante de exportaes industriais dos
Estados Unidos e da Unio Europeia para a China, a distncia entre a participa-
o da Amrica Latina e dessas duas potncias no total das exportaes industriais
chinesas ainda maior.
GRFICO 3
Saldo comercial industrial chins, por regio
(Em US$ bilhes)
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
Fonte: OMC.
Em sntese, as diferenas entre os pases latino-americanos e os pases asiti-
cos, em especial a China, devem-se, em grande medida, s concepes peculiares
de poltica industrial e aos modelos de insero externa a elas associados.
No caso dos pases asiticos, como a Coreia do Sul e Taiwan, foram ativadas
polticas orientadas para o desenvolvimento de capacidades domsticas nas ativi-
dades de alta tecnologia, enquanto nos demais tigres asiticos (Malsia, Tailndia,
Indonsia e Filipinas) o modelo adotado foi de atrao das empresas multinacio-
nais para se tornarem plataformas de exportao nestes segmentos (LALL, 2001).
A China conseguiu mesclar essas duas opes, o que lhe foi possvel graas
magnitude de seu mercado interno e ao planejamento estatal.
J no caso dos pases latino-americanos, a partir dos anos 1990, predomina-
ram as polticas industriais de carter horizontal e as polticas macroeconmicas
275 China e Amrica Latina na Nova Diviso Internacional do Trabalho
recomendadas pelos pases desenvolvidos. Paralelamente, foram assinados tratados
de livre comrcio entre vrios pases da regio e as economias avanadas, que ten-
dem a subordinar os fuxos comerciais s decises das empresas multinacionais
(CHANG, 2004). Ou seja, enquanto estes pases adotaram estratgias meramente
integracionistas, clonando-se para investidores estrangeiros, os pases do Sudeste
Asitico, com destaque para a China, optaram por estratgias mais independentes,
ancoradas na criao de habilidades nacionais prprias (AMSDEN, 2009).
Dessa forma, o padro de insero externa acabou por defnir o potencial
de ampliao e internalizao dos ganhos de produtividade, permitindo, no caso,
chins a ampliao dos empregos gerados e, inclusive, a elevao dos salrios; en-
quanto a Amrica Latina experimentou a desindustrializao relativa e uma piora
das condies do mercado do trabalho (GHOSE, 2003).
As diferenas em termos de dinmicas macroeconmicas e produtivas po-
dem tambm ser visualizadas por meio do comportamento dos investimentos
diretos estrangeiros (IDEs) nestas duas regies econmicas.
Na China, observa-se que esses investimentos elevaram-se de maneira
contnua, apoiados pelo desenvolvimento e pela diversificao da base in-
dustrial e dos servios, enquanto na Amrica Latina o comportamento dos
IDEs se mostra, em grande medida, exgeno. Ou seja, eles crescem com o
volume global de investimentos externos, como nos perodos 1998-2000
e 2003-2008; e caem quando a economia global enfrenta crises, como em
2001-2003 (grfico 4).
Quanto aos novos projetos de investimentos realizados pelas empresas trans-
nacionais, observa-se que o grau de abertura econmica e de regulao estatal
pouco interferem. Estas empresas tm aumentado seus projetos em pases din-
micos economicamente, como a China, enquanto que em boa parte da Amrica
Latina tendem a se circunscrever a alguns setores de atividade, geralmente nos
servios e nos setores intensivos em recursos naturais.
Esse quadro sinttico permite explicar por que, a partir dos anos 2000,
verificou-se a acelerao do crescimento chins, impactando diretamente
sobre os preos e quantidades dos produtos agrcolas e minerais que a
Amrica Latina exporta. Isto contribuiu para o boom da economia mundial
e para que o padro de insero externa dos pases latino-americanos apre-
sentasse resultados menos negativos do que nos anos 1990. Desta forma, os
nveis de expanso da renda per capita chegaram a 3,5% anuais para a mdia
da regio entre 2003 e 2008.
276 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
GRFICO 4
Estoque de IDEs para os pases em desenvolvimento Amrica Latina e China, 1998-2008
(Em US$ bilhes)
-50,0
50,0
150,0
250,0
350,0
450,0
550,0
650,0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Pases em Desenvolvimento China Amrica Latina
Fonte: UNCTAD.
A grande questo que se coloca em que medida esta melhoria dos termos de
intercmbio da regio propiciada pelo efeito China queda dos preos industriais
importados e elevao dos preos das exportaes de commodities mostra-se sus-
tentvel, no mdio prazo, do ponto de vista das contas externas? Este novo padro
de especializao no limita o potencial de incorporao de tecnologia e at de
atrao das empresas transnacionais? Mais ainda, quais so seus impactos sobre o
estilo de crescimento e o perfl dos empregos gerados? Estas questes so discutidas
adiante, depois de uma apresentao do panorama das relaes econmicas entre
as duas regies, sempre levando em considerao as especifcidades dos diferentes
pases latino-americanos.
3 CHINA E AMRICA LATINA: UM PANORAMA DAS RELAES ECONMICAS
Neste tpico, procura-se apontar a importncia da Amrica Latina no conjunto das
transaes comerciais da China e vice-versa. A partir dos dados de 2008 da OMC,
percebe-se que apenas 4% das exportaes chinesas se dirigem para a Amrica Latina
(grfco 5). Considerando a Amrica Latina e a frica de maneira conjunta regies
que tm recebido fortes investidas da China na rea externa estas respondem por
7,5% das exportaes chinesas. Do lado inverso, delas provm 11% das importaes
chinesas (6% da Amrica Latina).
Portanto, essas regies aparecem como marginais para o desempenho expor-
tador chins, haja vista que este pas consegue ter acesso aos mercados dos pases
277 China e Amrica Latina na Nova Diviso Internacional do Trabalho
desenvolvidos cerca de 50% das suas exportaes vo para Estados Unidos, Unio
Europeia e Japo , alm dos outros mais de 30% destinados ao Sudeste Asitico.
Quando se analisa a composio das importaes chinesas, percebe-se que a
Amrica do Sul e Central respondem por 25% dos produtos agrcolas consumidos
pela China e por 13% dos produtos minerais, incluindo combustveis (tabela 1). J no
caso africano, estes percentuais chegam a 2,3% e 16,1%, respectivamente, conforme
os dados da OMC. Em outras palavras, quase um tero dos produtos agrcolas e mine-
rais inclusive combustveis importados pela China originam-se destas duas regies.
TABELA 1
Exportaes da Amrica Latina para a China por setor 2008
Exportaes da Amrica Latina
para a China (US$ bilhes)
Participao de cada setor no
total das exportaes da
Amrica Latina para a China (%)
Amrica Latina no total das
importaes chinesas por
Setor (%)
Produtos agrcolas 21,71 32,2 25,0
Combustveis e minrio 39,88 59,1 13,0
Produtos manufaturados 5,89 8,7 0,80
Fonte: OMC.
Obs.: O Mxico e os pases do Caribe no esto includos na Amrica Latina de acordo com a base de dados da OMC.
Ao se associar o perfl de exportaes dos pases latino-americanos concen-
trado em commodities e a necessidade de alimentos, matrias-primas agrcolas,
minerais e combustveis por parte da China durante a acelerao do seu cresci-
mento que superou a taxa de 10% a.a. na primeira dcada do sculo XXI, pelo
menos at a crise de 2008 , compreende-se a expanso formidvel das exporta-
es desta regio para a potncia asitica.
O grfco 5 destaca o forte ritmo de expanso do comrcio latino-americano
com a China.
1
Entre 1990 e 2008, a corrente de comrcio incluindo exporta-
es mais importaes entre as duas regies incrementou-se em 64 vezes. Neste
perodo, as exportaes da Amrica Latina excluindo o Mxico para a China
aumentaram 36 vezes de US$ 0,8 bilho para US$ 27,8 bilhes , enquanto
as importaes foram multiplicadas por 127 de US$ 0,4 bilho para US$ 45,5
bilhes. Ao fm do perodo, o saldo comercial era favorvel para a China em US$
16,8 bilhes. Ao se incluir o Mxico neste cmputo, o dfcit comercial salta a
US$ 49,4 bilhes, segundo os dados da Cepal.
1. O grfico 5 no traz os dados do Mxico porque estes seguem uma tendncia diversa dos pases da regio, o que
afetaria a anlise agregada das relaes entre Amrica Latina e China. Os grficos seguintes, que apresentam as
diferentes posies por pas, j vm com os dados mexicanos.
278 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
GRFICO 5
Exportaes, importaes e saldo comercial da Amrica Latina com a China 1990-2008
-20.000.000
-10.000.000
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
1990 1995 2000 2005 2008
Exportaes Importaes Saldo
Fonte: Cepal.
Obs.: O Mxico no est includo na Amrica Latina.
Vale ressaltar que 92% desse salto na corrente de comrcio entre as duas
regies, durante o perodo analisado, se concentram no perodo 2000-2008. E
justamente ento que se presencia tanto o aquecimento e a diversifcao da ex-
panso chinesa ampliando a demanda por bens do incio da cadeia dos setores
energtico, metalrgico e de infraestrutura e a consequente elevao do preo
das commodities exportadas pela Amrica Latina, fatores, alis, inter-relacionados.
Para Yin (2006), a expanso das importaes chinesas se deve tambm reduo
da tarifa mdia de importao da China aps sua entrada na OMC. Entre 1998 e
2005, esta caiu de 17% para 9,4%. Ainda assim, importante lembrar que a estru-
tura tarifria chinesa segue sujeita a picos tarifrios, especialmente no setor agrcola,
em que as tarifas se mostram superiores mdia (CEPAL, 2006). Paralelamente, a
demanda latino-americana por importaes chinesas tambm sofreu uma infexo
depois do ano 2000, quando a regio volta a apresentar maior dinamismo econmico.
Entre 2000 e 2008, as exportaes latino-americanas multiplicam-se por 10,8,
enquanto as importaes oriundas da China ampliam-se em 10 vezes. Todavia, tal
expanso no se processa de forma linear ao longo do tempo. O boom de commodities
faz que as exportaes latino-americanas apresentem um crescimento explosivo entre
2000 e 2005, de 45% a.a., que declina para 18% entre 2005 e 2008. Justamente neste
ltimo perodo, so as exportaes chinesas que se destacam por um forte dinamismo,
de 37% a.a., contra um incremento de 31% verifcado na primeira metade da dcada.
Esse comportamento desigual dos ritmos de expanso em cada uma das re-
gies explica-se, em grande parte, pelo perfl do comrcio bilateral. O crescimento
279 China e Amrica Latina na Nova Diviso Internacional do Trabalho
latino-americano parece impactar de forma mais decisiva sobre as importaes de
produtos industriais chineses do que o contrrio, j que a China importa da regio
basicamente commodities. Se esta hiptese se comprovar, a bonana trazida pela
China para alguns pases da regio pode se transformar em um fator de vulnera-
bilidade, a menos que as polticas econmicas e de desenvolvimento se adquem
ao novo contexto. Jenkins, Peters e Moreira (2008) tambm trabalham com esta
hiptese, na medida em que o potencial exportador chins enorme, ao passo que
a importao de commodities por parte da China, ainda que se mantenha elevada,
no deve seguir crescendo no mesmo ritmo que no passado recente.
Tal ressalva faz-se importante em um momento em que alguns autores (SANTISO;
BLZQUEZ-LIDOY; RODRGUEZ, 2006) acreditam que a China pode tornar
menos vulnerveis, em termos externos, os pases latino-americanos, em virtude da
melhoria dos termos de troca, sem atentar para a dinmica econmica e setorial das
respectivas regies, que tende a acirrar um quadro de interdependncia assimtrica.
As tabelas 2 e 3 e os grfcos 6 e 7 apresentam a posio dos diferentes pases
da Amrica Latina no tocante s relaes comerciais mantidas com o pas asitico.
Em primeiro lugar, verifca-se que 90% das exportaes regionais para a China
aqui j includos os dados mexicanos so provenientes de apenas quatro pases, a saber:
Brasil, Chile, Argentina e Peru, em ordem decrescente de valor exportado tabela 2.
Em segundo lugar, pode-se observar que enquanto para a mdia dos pases
latino-americanos a China responde por 4,8% das exportaes totais segundo
dados do Comtrade/ONU , para Chile e Peru esta participao j supera a taxa
de 10%, aproximando-se deste patamar no Brasil e na Argentina. Para os demais,
com exceo de Cuba e Costa Rica, a participao chinesa nas vendas externas
ainda mostra-se inferior a 3% (grfco 6).
TABELA 2
Participao dos principais pases exportadores da regio no total das exportaes
latino-americanas para China 2004-2008
(Em %)
2004 2005 2006 2007 2008
Brasil 39 37 37 33 40
Chile 23 24 22 30 24
Argentina 19 17 15 16 16
Peru 9 10 10 9 9
Mxico 3 6 7 6 5
Costa Rica 1 1 2 3 2
Colmbia 1 1 2 2 1
Equador 0 0 1 0 1
Uruguai 1 1 1 0 0
Fonte: Comtrade/ONU.
280 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
GRFICO 6
Participao da China nas exportaes totais por pases da Amrica Latina 2008
(Em %)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Fonte: Comtrade/ONU.
Ou seja, alm de as exportaes para a China se distriburem de maneira
desigual na regio, a maioria dos seus pases ainda no experimentou a ascenso
chinesa ao menos enquanto potncia consumidora.
Entretanto, todos os pases j tm a China como segundo ou terceiro for-
necedor individual segundo dados de 2008. Apenas para Equador e Uruguai, a
China se apresenta como a quarta origem mais importante de suas importaes, o
que se deve importncia do comrcio regional para estes pases (tabela 3).
TABELA 3
Posio da China no ranking de destino das exportaes e origem das importaes
2000 e 2008
Exportaes Importaes
2000 2008 2000 2008
Argentina 6 2 4 3
Brasil 12 1 11 2
Chile 5 1 4 2
Colmbia 35 4 15 2
Costa Rica 26 2 16 3
Cuba 5 2 5 2
Equador 20 17 12 4
(Continua)
281 China e Amrica Latina na Nova Diviso Internacional do Trabalho
Exportaes Importaes
2000 2008 2000 2008
Mxico 25 5 6 3
Peru 4 2 13 2
Uruguai 4 5 7 4
Venezuela 37 3 18 3
Fonte: Cepal.
Paralelamente, exceo de Chile e Peru, todos os pases da regio mostram-
-se defcitrios com a China (grfco 7). O Mxico conforma o outro extremo,
com um dfcit que supera os US$ 30 bilhes em 2008. Cumpre enfatizar que a
existncia de um dfcit comercial no deve ser visto como um problema em si
mesmo. Porm, tende a s-lo se o padro de comrcio vigente e a dinmica econ-
mica das duas regies a China se movendo no sentido de maior complexidade
industrial e a regio se conformando a um quadro de extrema especializao pro-
dutiva transformem esta tendncia em estrutural.
GRFICO 7
Saldo comercial dos vrios pases da Amrica Latina com a China 2008
(Em US$ milhares)
-35.000.000
-30.000.000
-25.000.000
-20.000.000
-15.000.000
-10.000.000
-5.000.000
0
5.000.000
Fonte: Comtrade/ONU.
Alm de profundamente concentradas por pases, as exportaes latino-
-americanas tambm o so em termos de produto. A tabela 4 apresenta os prin-
cipais produtos exportados para a China por oito pases selecionados. So eles:
(Continuao)
282 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
minrios (cobre, ferro e nquel), combustveis (petrleo) e alimentos (soja, farinha
de peixe e pescados) ou matrias-primas industriais (l, couro e celulose).
TABELA 4
Participao dos principais produtos nas exportaes para a China desde alguns pa-
ses latino-americanos, 2008
(Em %)
Principais produtos (%) Primeiro Segundo Terceiro
Argentina 84,7 Soja Petrleo
Brasil 72 Minrio de ferro Soja Petrleo
Chile 76,2 Cobre Celulose
Colmbia 84,8 Ferro-nquel Cobre Petrleo
Equador 94,5 Petrleo Cobre
Mxico 79,6 Cobre Minerais
Peru 69,4 Cobre Farinha de peixe Minrio de ferro
Uruguai 62,7 L Peixes e crustceos Couro
Fonte: RedLat.
J quando se compara o perfl das exportaes do conjunto da Amrica Lati-
na para a China e vice-versa, obtm-se o cenrio descrito na tabela 5. Os produtos
primrios representam 72% das vendas da regio para a China, ao passo que ou-
tros 15,8% so manufaturas intensivas em recursos naturais. Do lado chins para
a regio, o cenrio apresenta-se invertido: 98% das vendas externas chinesas so
de produtos industrializados, sendo que 68% do total se encaixam na categoria
de alta e mdia tecnologia e 20% na de baixa tecnologia.
TABELA 5
Perl das exportaes e das importaes da Amrica Latina com a China 2000 e 2008
(Em %)
Exportaes para a China 2000 2008
Produtos primrios 58,1 71,9
Bens industrializados 41,8 28,1
Baseados em recursos naturais 23,3 15,8
De baixa tecnologia 5,8 2,4
De mdia tecnologia 6,2 5,6
De alta tecnologia 6,5 4,3
Importaes da China 2000 2008
Produtos primrios 3,1 0,9
Bens industrializados 95,1 97,8
(Continua)
283 China e Amrica Latina na Nova Diviso Internacional do Trabalho
Importaes da China 2000 2008
Baseados em recursos naturais 10,5 9,4
De baixa tecnologia 35,4 20,5
De mdia tecnologia 25,1 26,3
De alta tecnologia 24,2 41,6
Fonte: Cepal.
Como consequncia, o dfcit comercial total da regio includo o Mxico
chegava a quase US$ 50 bilhes em 2008, com um saldo positivo de bens primrios de
cerca de US$ 21 bilhes em favor da Amrica Latina, contra um dfcit no setor indus-
trial de US$ 67 bilhes, com valores de US$ 32 bilhes, US$ 19 bilhes e US$ 16 bi-
lhes para os segmentos de alta, mdia e baixa tecnologia, respectivamente (grfco 8).
GRFICO 8
Saldo comercial da Amrica Latina com a China por categorias de produto, 2008
(Em US$ milhares)
-35.000.000
-25.000.000
-15.000.000
-5.000.000
5.000.000
15.000.000
25.000.000
Produtos primrios
Manufaturas intensivas
em recursos naturais
Baixa tecnologia
Mdia tecnologia
Alta tecnologia
Fonte: Cepal.
Finalmente, a anlise dos impactos do comrcio com a China exige um enfoque
dinmico, ou seja, deve ser realizada a partir de um contraponto com o movimento dos
fuxos de comrcio dos pases latino-americanos com os demais parceiros comerciais.
A anlise em termos agregados indica uma queda da participao dos Esta-
dos Unidos nas exportaes da regio entre 2000 e 2008, embora se mantenha
em nveis elevados, acima de 40%, o que se deve, em grande medida, ao fator
Mxico. Percebe-se ainda que, o intercmbio intrarregional cresce em termos rela-
tivos, respondendo por 20% das exportaes latino-americanas, percentual cinco
(Continuao)
284 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
vezes superior ao da participao da China (4%). A Unio Europeia mantm
uma participao pouco acima de 10%, o que se deve ao fato de ser um grande
mercado de commodities (grfco 9).
Em contrapartida, do ponto de vista das importaes, a ascenso chinesa reve-
la-se categrica, j que todos os pases emergem cada vez mais como compradores
da China. Os Estados Unidos representavam 30% das compras latino-america-
nas em 2008, uma queda de quase 20 pontos percentuais se comparado a 2000.
A China, no mesmo perodo, salta de 6% para 11%. A Amrica Latina presencia
um movimento ascendente, respondendo por 18,6% das compras regionais, en-
quanto o percentual da Unio Europeia se mantm em torno de 15% (grfco 10).
Do ponto de vista da regio, a substituio dos Estados Unidos e da Unio
Europeia pela China como fornecedora de produtos industriais no parece ser um
problema em si. Alm do fator preo, a China pode vir a se tornar um parceiro
mais palatvel nas negociaes bilaterais e geopolticas. No existe, por exemplo,
uma imposio de acordos comerciais.
Entretanto, a China tambm vem deslocando o comrcio intrarregional nos
segmentos mais intensivos em tecnologia, sendo o Brasil o pas mais prejudicado
neste sentido, e afetando tambm os laos de complementao produtiva entre os
pases da Amrica Latina em geral, especialmente nos setores industriais, seja nos
intensivos em trabalho ou em capital.
GRFICO 9
Exportaes da Amrica Latina por destino 2000 e 2008
(Em %)
0
10
20
30
40
50
60
70
Estados Unidos Unio Europeia Aladi
1
China
2000 2008
Fonte: Cepal.
Nota:
1
Associao Latino-Americana de Integrao.
285 China e Amrica Latina na Nova Diviso Internacional do Trabalho
GRFICO 10
Importaes da Amrica Latina por origem 2000 e 2008
(Em %)
0
10
20
30
40
50
60
Estados Unidos Unio Europeia Aladi China
2000 2008
Fonte: Cepal.
Vale ressaltar, mais uma vez, que cada pas possui sua forma peculiar de
insero externa, a qual tambm se altera de forma diferenciada em virtude da
crescente projeo internacional da economia chinesa. O quadro 1, a seguir,
procura apresentar tal diversidade de opes de insero externa.
Alguns pases como Chile e Peru aumentam seu grau de dependn-
cia comercial em relao China, mantendo, contudo, os Estados Unidos
e a Amrica Latina como destinos importantes de suas vendas. No outro
extremo, Colmbia, Mxico, Equador e Uruguai ainda no conseguiram
expandir suas vendas para o mercado chins. Para os trs primeiros pases
supracitados, os Estados Unidos continuam se firmando como o principal
comprador, enquanto que para o Uruguai o mercado regional basicamente
o Mercado Comum do Sul (Mercosul) o principal destinatrio de suas
vendas. J para Brasil e Argentina, as vendas para a China tm crescido em
termos absolutos e relativos, mas estes pases continuam a depender bastan-
te do mercado regional no caso do Brasil, esta dependncia menor em
termos agregados, mas se mostra substantiva quando se apura sua importn-
cia para os produtos de maior valor agregado.
286 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
QUADRO 1
Distribuio dos pases de acordo com o grau de dependncia
1
dos seus
principais mercados
Grau de dependncia da
China
Grau de dependncia dos
Estados Unidos
Grau de dependncia do
comrcio regional
Argentina +- - +
Brasil +- - +
Chile + +- +-
Colmbia - + +-
Equador - + +-
Mxico - + -
Peru + +- +-
Uruguai - - +
Fonte: RedLat (2010).
Nota:
1
O grau de dependncia (+) forte, (+-) mdio, (-) fraco reete a posio do pas com relao mdia latino-americana.
4 OS VRIOS PADRES DE RELAES ECONMICAS DOS PASES LATINO-
-AMERICANOS COM A CHINA
Nessa seo, apresenta-se uma tipologia, desenvolvida em RedLat (2010),
cujo intuito mapear os padres de comrcio e investimentos estabeleci-
dos entre a China e alguns pases da Amrica Latina. Trs fatores revelam-se
estratgicos para classifcar os pases de acordo com os diversos padres de
comrcio mantidos com a China.
Primeiro, a loteria de commodities, que benefcia os pases que con-
tam com ampla oferta de certos produtos primrios demandados pela China
(GONZLEZ, 2008). Esta loteria no esttica, j que alguns pases podem se
capacitar a fornecer novas commodities, enquanto os bem posicionados podem
perder o acesso ao mercado chins para outros concorrentes internacionais.
Segundo, a existncia ou no de uma relao de forte dependncia comercial
com os Estados Unidos, especialmente se esta leva a uma especializao que trans-
forma este pas em competidor da China no mercado estadunidense. Este , por
exemplo, o caso do Mxico, mas no necessariamente dos demais pases que ainda
tm os Estados Unidos como importante destino de suas exportaes.
O terceiro fator o grau de diversifcao da produo industrial interna de cada
pas. Isto porque quanto mais complexo o parque industrial, maior a presso compe-
titiva chinesa sobre o conjunto do sistema produtivo. Como a China conseguiu im-
plantar um amplo sistema industrial, competitivo nos vrios elos da cadeia, pases que
adotaram um modelo de industrializao intensiva tendem a ser mais prejudicados
(CASTRO, 2008). Ou seja, quanto menos complexa for uma economia s vsperas
287 China e Amrica Latina na Nova Diviso Internacional do Trabalho
de sua entrada no mercado sinocntrico, mais rpida crescer, ao menos no mdio
prazo, desde que possa satisfazer ao perfl e magnitude da demanda chinesa.
Em linhas gerais, pode-se afrmar que o pas que tende a sofrer mais os
impactos negativos da ascenso chinesa aquele que no foi favorecido pela
loteria de commodities, possui um padro de especializao totalmente estru-
turado para atender aos Estados Unidos e conta com uma produo interna
bastante diversifcada. O Mxico destaca-se pelas duas primeiras caractersti-
cas; o Brasil, por outro lado, pela terceira, a qual no parece ser compensada
pelas vantagens obtidas na primeira e na segunda.
J o pas potencialmente mais benefciado aquele que saiu favorecido na
loteria das commodities, possui menor dependncia do mercado americano,
ao menos nas exportaes industriais, e no conta com uma estrutura industrial
complexa. o caso do Chile e, em menor escala, do Peru. Isto no signifca que
os impactos da ascenso chinesa devam ser necessariamente positivos nestes pa-
ses, mas sim que tendem a maximizar os ganhos de curto prazo de uma opo
realizada no passado. Estas caractersticas justifcam a incluso do Chile e do Peru
no padro A pases exportadores de commodities chinesas com reduzido parque
industrial e tambm ajudam a explicar por que estes pases foram os primeiros
da regio a assinarem acordos de livre comrcio com a China.
Brasil e Argentina assemelham-se a Chile e Peru no sentido de que so favo-
recidos pela loteria de commodities. Entretanto, distinguem-se fortemente des-
tes ltimos, pois seu nvel de diversifcao produtiva faz que sofram uma forte
presso competitiva chinesa naqueles setores industriais de maior valor agregado,
que ainda cumprem um papel importante para ativar o crescimento econmico
destes pases. Somado a isto, a China ocasiona um desvio do comrcio intraMer-
cosul, comprometendo as possibilidades de complementao produtiva. O Brasil
parece sofrer mais por ser deslocado pela China em alguns segmentos no mercado
dos Estados Unidos e tambm pela maior complexidade da indstria brasileira.
Brasil e Argentina pertencem ao padro B economias industriais sem tratado de
livre comrcio (TLC) e exportadoras de commodities.
O Mxico, alm de ser prejudicado pela loteria de commodities no dispe
de uma ampla capacidade exportadora de matrias-primas (exceto petrleo) , pos-
sui toda sua estrutura produtiva voltada para os Estados Unidos, exatamente naque-
les segmentos em que a China se mostra mais competitiva. S no mais prejudica-
do em virtude de sua diversifcao industrial menos pronunciada, j que seu setor
produtivo tem se especializado cada vez mais na exportao de bens de consumo
durveis para os Estados Unidos. Ou seja, os elos da cadeia produtiva de vrios seto-
res industriais j se perderam nos anos 1990. O padro C engloba as economias
exportadoras de produtos industriais que possuem TLC com os Estados Unidos.
288 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
Finalmente Equador e Uruguai aparecem como pases exportadores de
commodities que ainda no foram benefciados pela ascenso chinesa e que pou-
co tm a perder em termos de base industrial. Caso consigam atrair capitais
chineses, podem inclusive se aproveitar dos mercados potenciais de seus blocos
regionais. Este padro D congrega os pases pequenos e potenciais exportado-
res de commodities com reduzido parque industrial.
A Colmbia oscila entre os padres C e D. Por um lado, trata-se de um pas
exportador de commodities, mas que ainda no foi puxado pela China. De outro,
um pas com estrutura industrial no desprezvel, a qual pode ser deslocada pela
China no mercado interno vale ressaltar que a Colmbia apresenta o segundo maior
dfcit com a China na regio, atrs somente do Mxico. Este pas tambm pode per-
der espao no mercado americano para a China em alguns segmentos.
O quadro 2 apresenta em que medida a China afeta positiva ou negativa-
mente cada pas de acordo com os vrios fatores considerados estratgicos na re-
lao bilateral, ademais de alocar os pases em seus respectivos padres comerciais
e de investimentos, cujas caractersticas so aprofundadas no quadro seguinte.
O quadro 3 procura analisar os impactos mais amplos destes padres comerciais
sobre as variveis macroeconmicas, os efeitos produtivos internos e de deslocamento
pela China nos mercados externos, e tambm sobre o montante e o perfl dos investi-
mentos externos. Para sua elaborao, levou-se em conta o contexto atual e as tendn-
cias em mdio prazo. Ou seja, nada impede que seja alterado em virtude de mudanas
na economia internacional e/ou das polticas adotadas pelos pases latino-americanos.
QUADRO 2
Posicionamento dos pases segundo os fatores que condicionam os impactos da
ascenso chinesa
Loteria das commo-
dities
Dependncia comercial
dos Estados Unidos
com exportaes con-
correntes s Chinesas
Grau de diversicao
industrial
Padres de relao
comercial com a China
Argentina + + - B
Brasil + +- - B
Chile + + + A
Colmbia +- +- +- D e C
Equador +- +- + D
Mxico - - +- C
Peru + +- +- A
Uruguai +- + +- D
Fonte: RedLat (2010).
Obs.: (-) tende a ser prejudicado em virtude desse fator pela ascenso chinesa; (+) tende a ser favorecido ou no prejudicado em
virtude desse fator pela ascenso chinesa; e para (+-) a ascenso chinesa indiferente ou conduz resultados contraditrios.
289 China e Amrica Latina na Nova Diviso Internacional do Trabalho
QUADRO 3
Uma tipologia de padres de relaes comerciais da Amrica Latina com a China
Padres Efeitos macroeconmicos
Efeitos produtivos
internos
Deslocamento nos
mercados externos
Efeitos em termos de
investimentos externos
A exportadores
de commodities chi-
nesas com reduzido
parque industrial
Chile e Peru
Positivos: supervits
comerciais puxados
por altos preos das
commodities minerais
e pela demanda
chinesa
Positivos: efeitos
limitados pela baixa
agregao de valor nas
cadeias produtivas dos
produtos exportados
para a China
Negativos: riscos
de substituio de
produtores nacionais
em alguns segmentos
industriais ou de
reduo expressiva
da margem de lucro
com impactos sobre o
mercado de trabalho
Indiferentes:
No existe concorrn-
cia expressiva entre os
produtos exportados
por estes pases e pela
China nos mercados
internacionais e o
Peru tende a ser mais
afetado nas suas
exportaes txteis e
de vesturio
Positivos: investi-
mentos de reduzida
magnitude localizados
nos setores primrios e
de infraestrutura
Negativos: perda do
potencial de atrao
de investimentos
em alguns nichos de
setores industriais pela
expanso chinesa
B economias
industriais sem TLC
e exportadores de
commodities Brasil e
Argentina
Positivos: elevao das
receitas externas em
virtude dos altos pre-
os das commodities
minerais e agrcolas e
da demanda chinesa
Negativos: risco de
deteriorao da balan-
a comercial caso os
nveis de crescimento
econmico se mante-
nham elevados
Positivos: efeitos
limitados pela baixa
agregao de valor nas
cadeias produtivas dos
produtos exportados
para a China. No caso
brasileiro, os investi-
mentos de algumas
empresas brasileiras
na China podem trazer
resultados favorveis
em termos produtivos
Negativos: a entrada
de produtos chineses,
at agora circunscrita,
em grande medida,
substituio de
outros fornecedores
internacionais, pode
abrir buracos na
estrutura produtiva,
especialmente no
caso brasileiro
Negativos: perda
crescente de espao
para as exportaes
brasileiras de produtos
industrializa-dos na
Amrica Latina e nos
Estados Unidos, desvio
do comrcio intra-
Mercosul em vrios
setores industriais com
prejuzos para Brasil
e Argentina
Positivos: aumento
dos investimentos das
empresas chinesas,
ainda concentrados
em commodities e
infraestrutura, mas
podendo avanar para
eletroeletrni-cos
e automotivo
Negativos: investimen-
tos de novos projetos
globais que poderiam
se direcionar para es-
tes pases, mas se con-
centram na China pela
maior competitivida-de
e dinamismo do
seu mercado
C economias
exportado-ras de
produtos industriais e
que possuem TLC com
os Estados Unidos
Mxico e vrios pases
da Amrica Central
Indiferentes: no con-
tam com uma oferta
de commodities ex-
pressiva para a China,
a exceo de alguns
produtos minerais
Negativos: desloca-
mento de produtores
internos em virtude
da crescente impor-
tao de produtos
chineses especialmente
eletroeletrni-cos e
txteis/vesturio
Negativos: forte
deslocamento das
exportaes mexicanas
no mercado dos Esta-
dos Unidos, em virtude
da alta semelhana do
perl exportador entre
os dois pases
Positivos: algumas
empresas logram
se tornar fornece-
doras industriais de
empresas com base
na China comrcio
intra-industrial ou
intra-multinacional
Negativos: desloca-
mento de atividades de
empresas multinacio-
nais de suas plantas no
Mxico para a China.
Positivos: maiores inves-
timentos chineses nos
ramos txtil/vesturio
tm sido realizados
para aceder ao mercado
dos Estados Unidos
(Continua)
290 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
Padres Efeitos macroeconmicos
Efeitos produtivos
internos
Deslocamento nos
mercados externos
Efeitos em termos de
investimentos externos
D pases pequenos e
potenciais exportado-
-res de commodities
com reduzido parque
industrial Equador
e Uruguai
Positivos: dependem
da oferta exportadora
e da sua capacidade
de atender
demanda chinesa;
Positivos: a importao
de produtos industriais
mais baratos pode
melhorar os termos
de intercmbio
Negativos: efeitos
produtivos internos
tendem a se concentrar
nos setores txteis e
de vesturio
Indiferentes: estes
pases no competem
com a China nos mer-
cados internacionais
Positivos: realizao de
investimentos chineses
nos setores de infraes-
trutura, vinculados aos
setores exportadores
e possibilidade de in-
vestimentos industriais
chineses para atender
aos mercados regionais
Fonte: RedLat (2010).
Alguns estudos, com foco para o conjunto da regio, j apontam os setores
que surgem como os mais potencialmente afetados pela expanso chinesa, no
que se refere ao deslocamento em mercados externos. Segundo Moreira (2006),
os mais afetados tendem a ser aqueles mais intensivos em trabalho, seguidos dos
intensivos em tecnologia. Os clculos deste autor indicam uma perda de merca-
dos externos para a China entre 1990 e 2004 de um valor equivalente a 1,7%
das exportaes industriais latino-americanas de 2004, subindo para 2,7% ao
se considerar os produtos de baixa tecnologia. Os dois setores que sintetizam as
atividades intensivas em trabalho (txtil e vesturio) e as intensivas em tecnologia
(eletroeletrnicos) so os mais prejudicados.
Tais estudos, entretanto, geralmente no captam o efeito sobre o desloca-
mento da produo interna via aumento das importaes, que se mostra mais
expressivo especialmente no caso das economias com parque industrial mais di-
versifcado, como o caso brasileiro.
Destaca-se tambm que as relaes America Latina/China ao contrrio
do que se percebe no caso de frica/China esto ainda basicamente centradas
em aspectos comerciais. Se mais recentemente os investimentos externos diretos
chineses tambm desembarcaram na Amrica Latina, geralmente refetindo o pa-
dro comercial desenvolvido em cada sub-regio, eles podem ser considerados
marginais, como se observa na tabela a seguir. Segundo a Cepal (2008), os Es-
tados Unidos e a Unio Europeia somados ainda respondem por dois teros dos
investimentos externos recebidos pela regio, enquanto os investimentos intrar-
regionais totalizam 10%.
Por outro lado, percebe-se que, em 2003, 35% do fuxo de investimentos
externos diretos chineses se dirigiu para a Amrica Latina, porcentagem que al-
canou 50% em 2004 (LPEZ; GARCA, 2006), dado superestimado j que
alguns dos parasos fscais de onde se realizam investimentos em outras partes do
mundo se encontram na regio. Cumpre ressaltar, paralelamente, que, entre 2004
(Continuao)
291 China e Amrica Latina na Nova Diviso Internacional do Trabalho
e 2006, os investimentos externos diretos chineses multiplicaram-se por trs em
mbito global (UNCTAD, 2007), como se verifca a partir dos dados do Minis-
trio do Comrcio da China.
Essa elevao recente dos investimentos externos diretos chineses pode ser
explicada por um conjunto de fatores: i) reservas internacionais vultosas; ii) eco-
nomia aquecida; iii) tenses comerciais com vrios pases; e iv) objetivos polticos/
diplomticos associados conquista de novos mercados. O grande diferencial das
transnacionais chinesas alm da escala de produo em seu mercado interno o
apoio que contam do aparelho do Estado e dos principais bancos pblicos.
Segundo levantamento da UNCTAD (2004), Peru, Mxico e Brasil
despontavam como os principais receptores de estoque de capital chins at
2002. Pode-se observar que trs padres de investimentos das transnacionais
chinesas. Um deles mais voltado para os setores de exportao e de infraestru-
tura caso do Peru. Outro mais preocupado com o potencial de exportao
de algumas commodities, mas sem deixar de visar o mercado interno caso
do Brasil. E, no caso mexicano, o interesse deve-se porta de entrada das
empresas mexicanas no mercado estadunidense, crescentemente predisposto
a prticas protecionistas contra a China.
De qualquer maneira, o que tende a predominar para a maioria dos pa-
ses a tendncia de concentrao dos investimentos chineses na Amrica Latina
nos segmentos orientados para o aproveitamento das vantagens comparativas em
termos de recursos naturais (JENKIS; DUSSEL PETERS; MOREIRA, 2008).
Ainda assim, para a maioria dos pases, apesar da recente elevao, os fuxos de
investimentos chineses representam menos de 1% do total de investimentos ex-
ternos recebidos (quadro 4).
QUADRO 4
Participao e perl dos investimentos externos diretos chineses nos pases analisados
Pas
Investimento chins na IDE total de
2008 (%)
Setores de concentrao
do investimento chins
Argentina 1,77 Automotivo e energia eltrica
Brasil 0,08 Minerao e energia
Chile 0,00 Silvicultura e minerao
Colmbia 0,02 Transporte, construo civil e petrleo
Equador 4,65 Comrcio, energia eltrica e petrleo
Mxico 0,01 Eletroeletrnico e telecomunicaes
Peru 0,00 Minerao
Uruguai Prximo a 0 Autopeas
Fonte: RedLat (2010).
292 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
Outro aspecto que merece considerao a baixa presena de investimentos
externos chineses nos pases que assinaram TLCs com a China, ou seja, Chile e
Peru. Tal fato sinaliza a relativa desconexo entre o montante de comrcio e de
investimento nas relaes bilaterais com a China. Como o mercado latino-ame-
ricano relativamente aberto aos produtos industriais, os investimentos chineses
no setor industrial ainda so pequenos. Estes tendem a se mostrar maiores em
mdio prazo nos segmentos que necessitam de um sistema de distribuio e de
uma cadeia de fornecedores locais.
Entretanto, nesse caso, tudo indica que os investimentos chineses se focali-
zariam nos pases com alguma estrutura industrial ou naqueles localizados em um
mercado regional com alguma proteo, como no caso do Mercosul. Os recentes
investimentos da empresa chinesa do setor automotivo Chery no Uruguai e,
depois, no Brasil parecem comprovar essa hiptese.
Enfm, mais do que uma poltica indiscriminada de atrao de capital chi-
ns, o que parece ser mais relevante para a entrada de investimentos do pas asiti-
co na regio o padro de comrcio estabelecido por cada pas com a China, alm
da dimenso potencial dos mercados internos e regionais para os investimentos
industriais e da disposio ou capacidade de expanso da estrutura produtiva
por empresas nacionais, privadas ou estatais para os investimentos em commo-
dities minerais e agrcolas ou em infraestrutura.
5 CONSIDERAES FINAIS: A ASCENSO CHINESA COMO DESAFIO REGIONAL
PARA ALM DO ECONMICO
Nesta ltima seo, procura-se discutir como os diversos padres de relaes
econmicas estabelecidos entre os pases da regio e a China acarretam de-
safios comuns. Isto porque todas as naes, ainda que de diversas maneiras,
se vm foradas a revisar suas estratgias de desenvolvimento em virtude da
reestruturao da diviso internacional do trabalho ocasionada pela ascen-
so chinesa.
Esta seo inicia-se com um debate, a partir da teoria econmica, sobre a
encruzilhada em que se encontram os pases latino-americanos, o que se deve
essencialmente aos problemas internos, oriundos das escolhas realizadas no passa-
do, agora aguados pelo novo quadro internacional.
Em seguida, so recuperadas algumas das caractersticas do modelo chi-
ns, com o intuito de desmistifcar a viso geralmente estigmatizada que se tem
sobre este na regio. Ao fm, discute-se o que signifca a geopoltica centrada no
econmico que como a China efetivamente se apresenta Amrica Latina ,
destacando as diferenas com relao ao padro sino-africano e apontando para
o tringulo de poder Estados Unidos China Amrica Latina, com potencial
293 China e Amrica Latina na Nova Diviso Internacional do Trabalho
para elevar o cacife dos pases latino-americanos nas negociaes internacionais e
impulsionar aes de integrao regional.
Em linhas gerais, pode-se afrmar que a China tende a acentuar as tendn-
cias de extrema especializao produtiva das economias da regio, ainda que al-
guns pases possam obter vantagens expressivas no curto prazo. Ou seja, a China
faz que as relaes comerciais dos pases latino-americanos se aproximem do que
a Cepal descreveu como um padro centro-periferia. Obviamente que o conjun-
to da pauta comercial destes pases se revela mais complexo do que no passado.
Paralelamente, o quadro internacional apresenta-se menos vulnervel para os ex-
portadores de commodities.
Parece, portanto, que seguindo a sugesto de Len-Manriquez (2006)
vale a pena considerar a pertinncia atual das teses leninista e cepalina para expli-
car a relao econmica entre a China e a Amrica Latina.
No caso da anlise de Lnin (1979), alm da conquista de matrias-pri-
mas, as potncias imperialistas se voltariam para a periferia, no fm do scu-
lo XIX, para aplicar seu excedente de capital, com a fnalidade de impedir a
queda da taxa de lucro. Segundo este enfoque, o imperialismo aparecia como
estratgia poltica, com objetivos explicitamente econmicos. Seria utilizada
pelos grupos rentistas em um cenrio de excessiva maturidade do capitalis-
mo no centro do sistema mundial.
Ora, esse no exatamente o caso chins do momento atual, que utiliza
a expanso de suas empresas no somente para obter mercados, como tambm
para aceder a vantagens geopolticas. Trata-se de uma nao, na melhor das
hipteses, proto-imperialista, disposta a conceder vantagens, inclusive econ-
micas, na tentativa de criar uma ordem multipolar, apesar da carga retrica
embutida neste conceito.
Deve-se, portanto, ao menos cogitar se a crescente relevncia da China na
economia global, que coincide com a crise de um sistema de poder interEstados
tal como foi confgurado no acordo de Bretton Woods e que comportara apenas
um grupo restrito de naes hegemnicas poderia, em alguma medida, abrir
espao para uma transformao da ordem poltica internacional. Para alm de
sua presena econmica, e at em contradio com ela, a China poderia desem-
penhar, ao menos em tese, um papel construtivo e no limite contraimperialista.
Adicionalmente, cumpre lembrar que os investimentos externos chineses es-
to, em grande medida, voltados para satisfazer a oferta de matrias-primas de uma
economia que ainda se encontra bastante distante da maturidade capitalista e que
se caracteriza justamente pelas altas taxas de lucros internas. Em poucas palavras,
a extroverso chinesa resulta do prprio aprofundamento de seu mercado interno.
294 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
Talvez fosse o caso de afrmar, seguindo as sugestes de Harvey (2005), de
que o capitalismo, ao se situar sempre no limite de um estado de ultra-acumu-
lao, necessita, com frequncia, de ajustes espaciais, o que leva a constantes
alteraes das estruturas geogrfcas nacionais. Isto porque o excedente de capital
e de trabalho propicia a criao de novos diferenciais entre as regies, de modo
a potencializar a acumulao. Nesse sentido, a China aparece como produto de
uma aliana exitosa entre capital local, nacional e transnacional, estruturada no
mbito do estado, desorganizando por meio de seu dinamismo econmico, verti-
cal e horizontal, as estruturas econmicas e sociais dos pases do Norte e do Sul,
e acarretando, por sua vez, um conjunto de reaes. O resultado desse embate
encontra-se, todavia, indefnido.
Por outro lado, as teses cepalinas, embora possam parecer questionveis no
curto prazo em virtude da melhoria dos termos de intercmbio no curto prazo
(produtos primrios exportados a preos mais altos e produtos industriais im-
portados a preos mais baixos) , nos auxiliam a compreender como a relao
bilateral com a China pode levar a um padro de especializao produtiva inca-
paz de trazer por si mesmo transformaes estruturais e aumento sustentado da
produtividade para os pases da regio. Neste sentido, a ascenso chinesa jogaria a
ltima p de cal na promessa de um desenvolvimento minimamente endgeno
latino-americano, devendo neste caso a responsabilidade ser imputada ausn-
cia de viso estratgica por parte dos pases da regio.
Importa destacar que a tendncia deteriorao dos termos de troca sempre
foi encarada pela Cepal como dado histrico e passvel de alterao. Jamais foi vista
como componente frreo de uma teoria defnitiva e universal. Atuava como elemen-
to emprico a situar historicamente o esforo de teorizao acerca das economias lati-
no-americanas. De fato, Prebisch (1998) constatava, j em 1949, que, na medida em
que os preos internacionais no acompanhavam a produtividade, a industrializao
surgia como o nico meio capaz de internalizar o desenvolvimento nestes pases.
Nos termos cepalinos, a concentrao dos frutos do progresso tcnico em
escala mundial se fazia sentir por meio de vrios mecanismos, um dos quais seria
a mencionada deteriorao. Mais particularmente, a deteriorao aparecia como
um argumento emprico importante contra a teoria das vantagens comparativas
(BIELSCHOWSKY, 1995).
Que tal tendncia no mais ocorra pelo menos da maneira to pronun-
ciada como se fazia sentir ento, ou que ela at se inverta, ainda que no se saiba
o quanto esta inverso tem de estrutural justamente por conta da ascenso
chinesa, no parece que seja sufciente para desmontar todo o edifcio cepalino,
na suposio ingnua de que a teoria das vantagens comparativas possa refetir o
funcionamento da economia internacional.
295 China e Amrica Latina na Nova Diviso Internacional do Trabalho
Ao contrrio, o risco que se corre justamente o de generalizao de uma
estrutura produtiva pouco robusta e agregadora de valor para os pases da regio,
tanto para os pases de mercado interno mais dinmico como para aqueles que
no lograram jamais se industrializar de maneira integral. O resultado seria o
congelamento de estruturas econmicas e sociais bastante desiguais.
Vale ressaltar que mesmo a anlise de Fajnzylber (1998) o ltimo gran-
de terico da escola cepalina que defendera a necessidade de agregar valor
dotao natural de recursos da regio, com o intuito de elevar a participao e a
competitividade no mercado internacional, no deixa de afrmar que o motor da
transformao econmica e social deve partir de componentes endgenos.
Indo diretamente ao ponto, mesmo que os preos dos produtos pri-
mrios se sustentem no mdio prazo e que se possa agregar mais valor a eles
por meio de novas tecnologias, seguir existindo e inclusive assumir uma
dimenso cada vez mais estratgica o problema de como internalizar as v-
rias cadeias produtivas e de como repartir o excedente gerado entre os atores
econmicos e sociais.
Dessa maneira, o debate a ser feito no gira em torno de uma opo simples
entre indstria ou agricultura, devendo, ao contrrio, estar embasado pelas dis-
tintas alternativas de desenvolvimento, as quais dependem por sua vez do nvel
de controle nacional das atividades exportadoras, do alcance dos encadeamentos
intersetoriais e do papel do estado na repartio do excedente.
Em sua ltima obra terica, Furtado (2000) procura refnar o edifcio es-
truturalista de sua teoria do subdesenvolvimento. Esse esforo fecundo e nos
fornece poderosas pistas para destrinchar o momento atual.
A transio da modernizao para a industrializao perifrica e depois para
a nova diviso internacional do trabalho, emergente em 1970, passa a ser monito-
rada por este renovado referencial terico, que qualifca a noo de subdesenvolvi-
mento a partir de uma relao, sempre desigual e subordinada, com a totalidade
capitalista, que por sua vez transita de um capitalismo dos sistemas nacionais
para um capitalismo das grandes frmas, confgurando uma autntica mutao
no sistema capitalista, segundo Furtado (2000).
Trata-se, enfm, de um desenvolvimento, o perifrico, sem autonomia
tecnolgica ou no qual a tecnologia do produto assume primazia e tende
subutilizao da capacidade produtiva onde o salrio real bsico mantm-se
comprimido, a reproduo da fora de trabalho se ancora no setor infor-
mal, o estado cumpre o papel de socializar parte dos custos de produo e as
empresas locais nacionais emprestam fexibilidade ao conjunto do sistema
industrial (FURTADO, 2000).
296 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
Nascendo e se desenvolvendo sob a fora gravitacional exercida pelo centro
da economia capitalista, a modernizao nas economias perifricas tem precedn-
cia sobre a difuso das tcnicas. As relaes de dependncia externa e a rigidez das
estruturas sociais internas fazem que as constries de ordem econmica adqui-
ram um valor redobrado.
Partindo da renovada formulao furtadiana, e em um intento de utiliz-la
para compreender o atual momento histrico, algumas indagaes podem ser
lanadas. Mas e se a dependncia externa se agrava, no por meio da vulnera-
bilidade, mas justamente pelas vantagens obtidas no mbito de uma economia
crescentemente sinocntrica? Esta melhoria do cenrio externo no poderia trazer
justamente maior rigidez das estruturas econmicas e sociais, j que o controle do
excedente se faz mais centralizado e refm da posio dos prprios pases na sua
gerao e repartio em escala internacional? Qual a capacidade de alargamento
da base de extrao de excedente? Qual o papel do Estado e dos diversos atores
econmicos e sociais?
A ascenso chinesa, neste sentido, deve ser encarada como forma de redistri-
buir para concentrar as vantagens de uma insero externa, que se vista como
esttica e espontnea, tende a reduzir o potencial de expanso interna dos frutos
do progresso tcnico, gerados nesta nova etapa do capitalismo que das grandes
frmas, mas tambm poder ser dos territrios nacionais ou regionais, desde que
polticas pblicas possam se antecipar e conduzir as tendncias do mercado.
Desde logo, isso signifca afrmar que Brasil e Mxico so os casos mais pro-
blemticos no que se refere aos desafos impostos pela ascenso chinesa, o que se
deve ao fato de que foi precisamente a que se vivenciaram processos dinmicos
de industrializao no passado (FURTADO, 1986).
Nesses pases, a nao asitica tende a impor um efeito armadilha, colo-
cando em xeque as estratgias de insero externa desenvolvidas nos anos 1990.
Adicionalmente, o modelo centro-periferia torna-se menos adaptvel a estes ca-
sos, assim como descartvel a hiptese do imperialismo chins.
No Mxico, isto se deve ao enfraquecimento dos dividendos e ao reforo dos
custos privados da opo North-America Free Trade Agreement (Nafta). A estra-
tgia maquiladora passa a ser questionada e os novos espaos abertos no mercado
chins no possuem a dimenso necessria para alavancar os setores deslocados
pela crescente presso competitiva sofrida no prprio mercado interno mexicano,
mas tambm no dos Estados Unidos. Desta forma, a China enfraquece o impacto
positivo do Nafta e potencializa os negativos, sem colocar nada em seu lugar.
No caso brasileiro cuja abertura no levou a uma desindustrializao, tendo
se mantido uma mnima coerncia do mercado interno, que se aproveitou da maior
297 China e Amrica Latina na Nova Diviso Internacional do Trabalho
relevncia do mercado regional, em especial para os produtos industriais , o avano
chins pode gerar uma presso negativa, difcultando a diversifcao desta indstria
para fora e para dentro, alm de postergar investimentos de transnacionais que at
ento viam o pas como plataforma de exportaes para a regio. Ou seja, a prpria
suposta liderana econmica e, por sua vez, geopoltica do Brasil na regio po-
deria se ver, se no comprometida, ao menos atenuada.
Essa anlise no deve servir para jogar a culpa na China pelas difculdades
dos sistemas produtivos latino-americanos em obter uma insero externa mais
dinmica. Parte importante dos dilemas impostos pela ascenso chinesa tende a
ser agravada pela ausncia de defnio acerca das prioridades dos pases latino-
-americanos em termos de poltica industrial, inovao tecnolgica e integrao
regional. Tambm falta uma viso coerente e fundamentada sobre o que se pode
esperar da China em sua relao com a Amrica Latina.
Para tanto, faz-se necessrio quebrar alguns mitos muito difundidos na
Amrica Latina sobre o modelo chins. Existe a concepo de que a compe-
titividade chinesa se deve, em ltima instncia, ao baixo custo da mo de obra.
Trata-se de uma anlise enviesada. A competitividade chinesa est relacionada
a um conjunto de fatores: escala de produo, mercado interno potencial, taxa
de investimento elevada, planejamento do Estado e crdito abundante e barato,
alm de incentivos fscais e cmbio desvalorizado que contribuem para atrair
empresas transnacionais e incentivam as exportaes. Obviamente que a mo de
obra de baixo custo eleva a rentabilidade das empresas, mas no assegura o senti-
do da trajetria de desenvolvimento e de aperfeioamento tecnolgico.
Realizar uma anlise sobre a competitividade chinesa partindo de uma
perspectiva esttica de custos signifca assumir, de maneira equivocada, que o
mercado global encontra-se perfeitamente integrado e que os estados nacionais
no dispem de ferramentas estratgicas, como taxas de juros e cmbio, polticas
industrial e tecnolgica, programas de reconverso produtiva em mbito nacional
e aes de complementaridade produtiva em mbito regional.
A experincia chinesa resulta nunca demais insistir da elaborao de
uma estratgia prpria de desenvolvimento, partindo de suas limitaes e poten-
cialidades, sem copiar modelos exgenos, mas tambm sem pejo de incorporar
perspectivas inovadoras. A busca por uma insero externa mais qualifcada era o
meio para incorporar progresso tcnico, ao mesmo tempo em que se expandia a
base de acumulao e, portanto, o ritmo na gerao de empregos.
Da porque se afguraria fadada ao fracasso qualquer tentativa de copiar o
modelo chins. Ao contrrio, a ascenso chinesa deve servir como alerta e est-
mulo para que a Amrica Latina busque seu prprio espao na nova economia e
geopoltica globais (DEVLIN, 2007).
298 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
No deixa de ser ilustrativo o fato de que, nos anos 1980, as pautas de ex-
portao e importao da China eram muito similares s da maioria dos pases la-
tino-americanos. A complementaridade atual entre as economias das duas regies
resultou da transformao produtiva experimentada pela China, enquanto que
os pases latino-americanos caminhavam no sentido da especializao externa.
As vantagens comparativas comerciais no so eternas e as pautas de exportao
refetem to somente um momento no processo de desenvolvimento econmico.
Yin (2006), por exemplo, prefere localizar as diferenas entre a China e a Amrica
Latina, no tanto nas pautas de exportao, mas nas polticas macroeconmicas,
industriais, educacionais e tecnolgicas.
Com sua transformao interna que se aproveita da economia global, rever-
berando sobre esta e transformando-a, deve-se analisar a poltica externa chinesa
como mecanismo de projeo sobre a geopoltica global. Para Anguiano (2008),
a crescente importncia global da China no se deve apenas aos fatores econ-
micos, mas tambm sua efcaz diplomacia, voltada a afrmar sua imagem como
potncia amigvel. Desta maneira, o pas asitico tem logrado inclusive capita-
lizar as frustraes geradas pelo unilateralismo americano (LAMPTOM, 2008).
Para a elite poltica chinesa, um ambiente internacional minimamente favor-
vel paz e estabilidade, segundo sua retrica diplomtica visto como fundamental
para preservar sua independncia, soberania e integridade territorial. Ou seja, o foco
no desenvolvimento domstico faz inclusive que esta nao procure distensionar a
sua poltica externa, que assume um vis cada vez mais pragmtico. Nesse sentido, a
melhor defnio sobre a China a de uma potncia regional com possibilidades de
se transformar em global (ANGUIANO, 2008).
No se trata de desafar abertamente os Estados Unidos, mas to somente de
ocupar os vazios deixados por esta potncia em regies como a frica e a Amrica
Latina (ANGUIANO, 2008), por meio do fortalecimento dos interesses econ-
micos chineses. Nestas regies, se estabelece uma crescente diplomacia de viagens
de representantes governamentais e de delegaes comerciais.
No tocante Amrica Latina, a diplomacia chinesa procura adaptar sua
grande estratgia s especifcidades regionais. De acordo com Cesarn (2006), a
poltica chinesa para a regio parte dos seguintes pressupostos: nfase na comple-
mentaridade de interesses polticos entre as duas regies que compem o mun-
do em desenvolvimento; importncia da Amrica Latina como reservatrio de
matrias-primas e recursos naturais; busca de capital poltico, visto que 12 dos
23 pases que reconhecem diplomaticamente Taiwan se encontram na regio; e a
inexistncia de confitos de interesses entre as duas reas. Todos esses elementos
se encontram listados pela diplomacia chinesa de forma precisa no documento
sobre a Poltica da China para a Amrica Latina e o Caribe, lanado em 2008.
299 China e Amrica Latina na Nova Diviso Internacional do Trabalho
Portanto, se a Amrica Latina ocupa um papel secundrio na estratgia da
poltica externa, no deixa de ser um espao relevante em sua busca de status
de potncia global, especialmente em virtude de sua motivao de diversifcar
os fornecedores de matrias-primas. Trata-se essencialmente de uma diplomacia
centrada no econmico, mas sem perder de vista o fator geopoltico. Nesse sen-
tido, os discursos opostos, tanto os que propagam a ameaa econmica chinesa
quanto os que se concentram na esfera estritamente poltica, so incapazes de
abarcar as motivaes da nova potncia em expanso e suas implicaes para a
regio (CORNEJO; GARCA, 2010).
Outra caracterstica das relaes entre China e Amrica Latina o foco na esfera
bilateral, ainda que temas multilaterais tambm fgurem nas relaes com a regio j
que a China busca os votos nas vrias comisses das Naes Unidas , assim como se
verifca sua presena em organismos regionais. Nesse sentido, importante enfatizar
que a China possui status de observador na Cepal, no Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID), na Aladi e na Organizao dos Estados Americanos (OEA),
alm de participar da Comisso de Dilogo Mercosul-China desde 1997 e de esta-
belecer um mecanismo de consulta e cooperao com a Comunidade Andina desde
2002 (XU, 2003).
Contudo, na prtica, essa postura tridimensional fca mais no plano do dis-
curso, diferentemente do que se verifca quando comparada com o quadro das
relaes entre China e frica. Aqui, a China procura estreitar os laos geopolti-
cos com os pases deste continente para alm da esfera estritamente econmica
e bilateral. Em 2006, o governo chins recebeu em Beijing lideres de 48 pases
africanos como parte do primeiro encontro do Frum on China-Africa Coopera-
tion (FOCAC). Alm da expanso do comrcio e dos investimentos chineses na
frica, este continente responde por 44% dos recursos de assistncia ao desenvol-
vimento do pas asitico (ALDEN, 2007).
Ou seja, a busca por mercados, recursos naturais e parceiros diplomticos
parece mais equilibrada na diplomacia chinesa com relao frica, ao menos
quando comparada Amrica Latina. Isto se explica, em alguma medida, pela
viso chinesa de que a Amrica Latina se constitui como rea de infuencia ame-
ricana o que exige mais cautela em sua ao em termos de poltica externa ,
mas tambm porque a presena do Estado, do capital nacional local e do prprio
capital transnacional, se mostra mais consolidada nesta regio.
Segundo Alden (2007), o discurso sobre a presena chinesa na frica cos-
tuma qualifcar o pas alternativamente como: potncia desenvolvimentista, ao
buscar uma aliana duradoura de longo prazo; potncia competidora, orientada
aos interesses de curto prazo, sem preocupao com o desenvolvimento, o meio
ambiente e os direitos humanos e trabalhistas; ou ainda como colonizadora, posto
300 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
que lhe interessa deslocar as demais potncias ocidentais fazendo uso do discurso
da cooperao sem imposies.
O quadro tecido por Alden (2007) mostra a complexidade da atuao
chinesa no continente africano, integrando interesses econmicos e geopolti-
cos e atuando de forma complementar nas esferas bilateral, regional e multila-
teral. Pode-se afrmar que o discurso de nova potncia colonizadora, utilizado
por grande parte da imprensa e da comunidade acadmica ocidental no que
diz respeito presena da China na frica, apenas se sustenta se for compen-
sado pelo seu papel desenvolvimentista, sem descartar os impactos negativos
trazidos pelo aumento da competio e da dependncia econmica.
O contraponto com a frica permitiria afrmar que a ao chinesa na Am-
rica Latina menos colonizadora e menos desenvolvimentista, mesmo nas naes
com complementaridade evidente com a economia chinesa, e que o efeito da
China como nao competidora se mostra mais evidente.
Por outro lado, no se pode deixar de reconhecer que as repercusses da
expanso chinesa por estas regies do sul do mundo, geralmente fltradas e tradu-
zidas pela imprensa global, so levadas em considerao pela diplomacia chinesa.
Da a cunhagem da tese sobre a ascenso pacfca chinesa, por volta de
2003 e 2004, at que esta fosse descartada pela diplomacia do pas, j que
as potncias ocidentais preferiram guardar a potncia e esquecer a pacfca
(LEONARD, 2008). Hoje, o que prevalece, ao menos para os liberais interna-
cionalistas que disputam, segundo o autor, a alma da poltica externa do
pas, com os neocomunistas e os pragmticos , a noo de que o desen-
volvimento pacfco chins exige a compensao do excesso de hard-power (po-
der militar e econmico) por uma boa dose de soft-power infuncia cultural e
capacidade de negociar com outros pases com base na cooperao.
No entender de Huang e Hu (2008), signifca que a projeo de alguns in-
teresses privados chineses no contexto internacional contribui para uma presena
desequilibrada e em contradio com a defesa de um mundo harmnico e mul-
tipolar, que deveria suceder-se ao mundo polarizado e unipolar, comandado
pelos Estados Unidos nos anos 1990. Ainda que esta viso no seja hegemnica
na China, a disposio para considerar a viso dos parceiros desde que no des-
vie a negociao dos interesses primordiais, do ponto de vista dos chineses daria
guarida a uma postura mais realista e negociadora por partes das vrias diploma-
cias dos pases latino-americanos.
Da perspectiva dos Estados Unidos, as relaes entre China e Amrica La-
tina tm sido encaradas com preocupao, apesar da cautela demonstrada pela
diplomacia chinesa nas suas incurses pela regio (JIANG, 2007).
301 China e Amrica Latina na Nova Diviso Internacional do Trabalho
Como visto, o avano chins na regio explica-se, especialmente, pelo im-
pacto desproporcional da ascenso chinesa sobre as economias nacionais; mas tal
impacto, exclusivamente econmico, pde se transformar em agenda poltica, em
virtude do isolamento estadunidense. O foco da poltica externa no terrorismo e
a perspectiva unilateral empreendida durante os anos Bush coincidiram, ademais,
com a frustrao em grande parte da Amrica Latina com os resultados das pol-
ticas orientadas pelo Consenso de Washington (WATSON, 2007).
A China, por sua vez, responde que sua presena na regio no tem como
foco os Estados Unidos, apesar de ressaltar, de maneira algo provocadora, a supe-
rao da doutrina Monroe no quadro de uma ordem crescentemente multipolar
(XIANG, 2007).
H, pois, ao menos em tese, a possibilidade de que a ascenso chinesa
abra espao para uma poltica externa menos dependente por parte dos pases
latino-americanos. Segundo Tokatlian (2007), poder-se-ia gestar uma relao
triangular Amrica Latina/China/Estados Unidos potencialmente proveitosa
para as trs partes.
Isso seria possvel porque as relaes entre os Estados Unidos e a China so
muito mais estratgicas entre si que entre cada um destes pases e a Amrica Lati-
na, ao passo que a infuncia na nao norte-americana substancialmente maior
do que a chinesa nesta regio, impedindo uma disputa de posies. A crescente
importncia chinesa poderia inclusive impulsionar algumas destas economias.
Obviamente que existe espao para frices no tema energia e na relao com
Cuba e Venezuela, mas no a ponto de substituir os confitos existentes entre
China e Estados Unidos em outras regies.
Essa oportunidade dependeria, contudo, de maior conscincia dos pases
latino-americanos com relao ao potencial aberto pela China, mas tambm
dos riscos impostos para suas economias, os quais se diferenciam sobremaneira,
como se procurou apontar no presente texto. Signifcaria, enfm, que a Am-
rica Latina, e cada um de seus pases, no aceitassem se incorporar de maneira
apenas passiva ascenso global chinesa (CORNEJO; GARCA, 2010), que
como sugerido possui sinais ambguos quando comparadas cruzadas as dimen-
ses econmica e geopoltica.
Em termos sintticos, a China impe a rediscusso da agenda do desen-
volvimento, que por sua vez exige uma avaliao das perspectivas da integrao
regional. Como destaca Cesarn (2006), a diplomacia chinesa tem se aproveitado
da eroso do princpio da ao coletiva na regio, em um contexto em que a ret-
rica integracionista avana mais rpido do que a preocupao por se cunhar um
horizonte estratgico comum.
302 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
Evidncia disso pode ser obtida durante a visita de Hu Jintao ao Brasil e
Argentina, em 2004, quando estes pases se comportaram mais como rivais do
que parceiros, mesmo compondo uma unio aduaneira comum. Outro exemplo
a disputa entre Chile e Peru na corrida para ver quem se coloca como a ponte
da regio com a sia do Pacfco. Paralelamente, todos os pases da regio tm de-
monstrado expectativas, em grande medida, ilusrias acerca da ascenso chinesa
(REDLAT, 2010).
No presente contexto, os projetos de integrao regional passam a assumir
um papel ainda mais estratgico do que no passado recente. Trata-se de articular
iniciativas polticas e econmicas concretas, por meio de vrios caminhos institu-
cionais e ritmos de adeso, entre os pases da regio, que permitam dar novo senti-
do s estratgias nacionais de desenvolvimento e atenuar os impactos porventura
negativos da nova diviso internacional do trabalho; ou seja, de uma globalizao
que fala um ingls cada vez mais carregado de sotaque chins.
REFERNCIAS
ALDEN, C. China in Africa. Londres: Zed Books, 2007.
AMSDEN, A. A Ascenso do Resto. So Paulo: Editora UNESP, 2009.
ANGUIANO, E. China como potencia mundial: presente y futuro. In: ROMER
C. (Org.). China: radiografa de una potencia en ascenso. Mxico: El Colgio de
Mxico, 2008.
BIELSCHOWSKY, R. Pensamento econmico brasileiro: o ciclo ideolgico do
desenvolvimentismo. 2. ed. Rio de Janeiro: Contraponto, 1995.
BIELSCHOWSKY, R.; STUMPO, G. Empresas transnacionales y cambios es-
tructurales en la industria de Argentina, Brasil, Chile y Mxico. Revista de la
Cepal, Santiago, n. 55, abr. 1995.
CASTRO, A. B. From semi-estagnation to growth in a sino-centric market.
Brazilian Journal of Political Economy, v. 28, n. 1, 109, Jan./Mar. 2008.
CESARN, S. Taller internacional de debate China y Amrica Latina, ejes
para el debate. Buenos Aires: FES/Nueva Sociedad, Sept. 2006.
CHANG, H. Chutando a escada: a estratgia do desenvolvimento em perspec-
tiva histrica. So Paulo: Editora UNESP, 2004.
CIMOLI, M.; KATZ, J. Structural reforms, technological gaps and economic
development: a Latin American perspective. Santiago: Cepal, 2002 (Serie Desar-
rollo Productivo).
303 China e Amrica Latina na Nova Diviso Internacional do Trabalho
COMISSO ECONMICA PARA A AMRICA LATINA E O CARIBE (CE-
PAL). Panorama de la Insercin Internacional de Amrica Latina y el Caribe
2005-2006. Santiago: Cepal, 2006.
______. La inversin extranjera directa en Amrica Latina y el Caribe 2008.
Santiago: Cepal, 2008.
CONFERNCIA DAS NAES UNIDAS SOBRE COMRCIO E DESEN-
VOLVIMENTO (UNCTAD). Capital accumulation, growth and structural
change. Trade and Development Report 2003. Genebra: UNCTAD, 2003.
______. Te Shift towards services. World Investment Report 2004. Genebra:
UNCTAD, 2004.
______. Transnational corporations, extractive industries and development.
World Investment Report 2007. Genebra: UNCTAD, 2007.
CORNEJO, R.; GARCA, A. N. China y Amrica Latina: recursos, mercados y
poder global. Nueva Sociedad, Buenos Aires, n. 228, jul./agosto 2010.
DEVLIN, R. What does China mean for Latin America? In: ARNSON, C.;
MOHR, M.; ROETT, R. (Org.). Enter the dragon?: Chinas presence in Latin
America, Washington: Woodrow Wilson International Center, 2007.
FAJNZYLBER, F. Industrializacin en Amrica Latina: de la Caja Negra al
Casillero Vaco. Cincuenta aos de pensamiento en la Cepal. Santiago: Cepal,
1998. Textos Seleccionados, v. 2.
FURTADO, C. A economia latino-americana. 3. ed. So Paulo: Companhia
Editora Nacional, 1986.
______. Introduo ao desenvolvimento: enfoque histrico-estrutural. 3. ed.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000.
GHOSE, A. Jobs and incomes in a globalizing world. Genebra: OIT, 2003.
GONZLEZ, F. Latin America in the economic equation winners and losers:
what can losers do? In: ROETT, R.; PAZ, G. (Org.). Chinas expansion into the
western hemisphere. Washington: Brookings Institution Press, 2008.
HARVEY, D. A produo capitalista do espao. 2. ed. So Paulo: Annablume, 2005.
HUANG, R.; HU, J. Te path for Chinas Peaceful development and the
construction of soft-power. Shanghai: Politics, International Studies and Law,
2008. v. 1 (SASS Papers, n. 10).
JENKINS, R.; DUSSEL PETERS, E.; MOREIRA, M. M. Te impact of China
on Latin America and the Caribbean. World Development, v. 36, n. 2, 2008.
304 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
JIANG, S. Tree factors in recent development of Sino-Latin-American relations.
In: ARNSON, C.; MOHR, M.; ROETT, R. Enter the dragon? Chinas presence
in Latin America. Washington: Woodrow Wilson International Center, 2007.
LALL, S. New technologies, competitiveness and poverty reduction. Manila:
Asia and Pacifc Forum on Poverty, Feb. 5-9, 2001.
LAMPTON, D. Te three faces of Chinese power: might, money and minds.
Berkeley: University of California Press, 2008.
LARDY, N. Chinas domestic economy: continued growth or collapse? In:
BERGSTEN, F. et al. (Org.). China: the balance sheet. New York: Public Afairs, 2006.
LNIN, V. Imperialismo: fase superior do capitalismo. So Paulo: Global Edi-
tora, 1979.
LEONARD, M. What does China think? London: Fourth State, 2008.
LEN-MANRQUEZ, J. L. China-Amrica Latina: una relacin econmica di-
ferenciada. Nueva Sociedad, Buenos Aires, n. 203, mayo/jun. 2006.
LO, D. Making sense of Chinas economic transformation. Londres: School of
Oriental and African Studies; University of London, 2006.
______. Chinas quest for alternative to neo-liberalism: market reform, economic
growth and labor. Te Kyoto Economic Review, v. 76, n. 2, Dec. 2007.
LPEZ, G. C.; GARCA, J. G. La inversin extranjera directa: China como
competidor y socio estratgico. Nueva Sociedad, Buenos Aires, n. 203, mayo/
jun. 2006.
MEDEIROS, C. A. A China como um duplo plo na economia mundial e a
recentralizao da economia asitica. Revista de Economia Poltica, So Paulo,
v. 26, n. 3, p. 577-594, jul./set. 2006.
MOREIRA, M. M. Fear of China: is there a future for manufacturing in Latin
America. Buenos Aires: BID-INTAL, Apr. 2006 (Occasional Paper, n. 36).
PREBISCH, R. El desarrollo econmico de la Amrica Latina y algunos de sus
principales problemas. In: CINCUENTA AOS DE PENSAMIENTO EN LA
CEPAL Santiago: Cepal, 1998. Textos Seleccionados, v. 1.
REDE LATINO-AMERICANA DE PESQUISA EM EMPRESAS MULTINA-
CIONAIS (REDLAT). As relaes econmicas e geopolticas entre a China
e a Amrica Latina: aliana estratgica ou interdependncia assimtrica. So
Paulo: RedLat, 2010.
SANTISO, J.; BLSQUEZ-LIDOY, J.; RODRGUEZ, J. Angel or devil?:
Chinas trade impact on Latin American emerging markets, Paris: OCDE, 2006.
305 China e Amrica Latina na Nova Diviso Internacional do Trabalho
TOKATLIAN, J. G. Amrica Latina, China e Estados Unidos: um tringulo
promissor. Poltica Externa, So Paulo, v. 16, n. 1, jun./ago. 2007.
XIANG, L. A geopolitical perspective on Sino-Latin American relations. In:
ARNSON, C.; MOHR, M. M.; ROETT, R. Enter the dragon?: Chinas presence
in Latin America. Washington: Woodrow Wilson International Center, 2007.
XU, S. La larga marcha Sur-Sur: China vis a vis Amrica Latina. Foreign Afairs
en espaol, v. 3, n. 3, Jul./Sept. 2003.
WATSON, C. U.S. Responses to Chinas growing interests in Latin America:
dawning recognition of a changing hemisphere. In: ARNSON, C.; MOHR, M.
M.; ROETT, R. Enter the dragon? Chinas presence in Latin America. Washing-
ton: Woodrow Wilson International Center, 2007.
WONG, J. Chinas economy in 2006/2007: managing high growth to faster
structural adjustment. China & World Economy, v. 15, n. 2, Mar./Abr. 2007.
YIN, X. New ways to the trade development between China and Latin America.
In: INTERNATIONAL FORUM OPPORTUNITIES IN THE ECONOMIC
AND TRADE PARTNERSHIP BETWEEN CHINA AND MEXICO IN A
LATIN AMERICAN CONTEXT, Mar. 2006, Mxico.
CAPTULO 8
CHINA E BRASIL: OPORTUNIDADES E DESAFIOS
*
Luciana Acioly
**
Eduardo Costa Pinto
***
Marcos Antonio Macedo Cintra
****
1 INTRODUO
O presente captulo tem como objetivo apresentar os desafos que o Brasil ter de
enfrentar com a ampliao de suas relaes comerciais, fnanceiras notadamen-
te o investimento direto estrangeiro (IDE) e produtivas com a China, em um
contexto marcado pela forte ascenso deste pas ao longo dos anos 2000 e pela
tentativa de mudana em curso do padro de crescimento chins aps a crise de
2008 evidenciado no XII Plano Quinquenal (2011-2015).
Para tanto, este captulo descreve, na seo 2, a ascenso econmica da
China e a tentativa de mudana de seu padro de crescimento implementado
pelo governo no ps-crise internacional de 2008. Na seo 3, so apresentados
alguns elementos da evoluo do comrcio entre Brasil e China e os principais
instrumentos tarifrios e no tarifrios utilizados. Na seo 4, so analisadas as
principais caractersticas do IDE chins no Brasil, a presena brasileira na China e
alguns elementos do quadro regulatrio deste pas, buscando traar consideraes
sobre a estratgia chinesa. Por fm, na seo 5, apresentam-se, em linhas gerais,
possveis oportunidades, ameaas e desafos para o Brasil.
2 ASCENSO ECONMICA DA CHINA E SEUS IMPACTOS MUNDIAIS NO PS-CRISE
O incio do sculo XXI foi caracterizado por aceleradas transformaes no siste-
ma econmico e poltico internacional, gerando modifcaes signifcativas na
diviso internacional do trabalho e nas posies relativas de determinados Estados
nacionais na hierarquia do sistema mundial. Essa nova conjuntura do sistema no
*
Este texto uma verso modicada do relatrio produzido por ocasio da visita da presidenta Dilma Rousseff
China, em 12 de abril de 2011. Agradecimentos especiais aos pesquisadores Renato Baumann, Rodrigo F. Moraes e
Andr Calixtre, da Diretoria de Estudos e Relaes Econmicas e Polticas Internacionais (Dinte) do Ipea, e aos bolsistas
Dbora Albuquerque e Wesley de Jesus Silva tambm da Dinte.
**
Tcnica de Planejamento e Pesquisa e assessora-chefe da Assessoria Tcnica da Presidncia do Ipea (Astec).
***
Tcnico de Planejamento e Pesquisa da Dinte/Ipea.
****
Tcnico de Planejamento e Pesquisa e diretor da Dinte/Ipea.
308 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
foi apenas uma decorrncia da ao unilateral do Estado americano; pelo contr-
rio, o que se verifcou, ao longo da dcada de 2000, foi o retorno e a emergncia
de atores representativos nos espaos de disputa global, tais como a Rssia, a ndia
e, notadamente, a China. O aumento de poder deste ltimo pas est vinculado
ao seu forte dinamismo econmico, que se articulou com o crescimento da sia,
da frica, da Amrica Latina e da Europa.
Apesar do aumento do poder relativo de alguns Estados nacionais, so-
bretudo a China, os Estados Unidos da Amrica mantm elevada concen-
trao do poder econmico e poltico. O sistema internacional permanece
ainda centralizado nos Estados Unidos, mas parece que seu poder relativo tem
diminudo, em virtude do crescimento do status poltico e econmico chins.
Nas ltimas trs dcadas, a China apresentou elevada taxa de cresci-
mento mdio do produto interno bruto (PIB) (10% entre 1980 e 2010)
e crescimento significativo do PIB per capita em preo corrente que
saltou de US$ 205,1 em 1980 para US$ 4.282,9 em 2010. Esse dinamismo
alimenta a ascenso chinesa para, cada vez mais, ocupar posies centrais na
economia mundial.
A participao da China no PIB global em dlares correntes entre
1980 e 1990 permaneceu praticamente estagnada e em um patamar baixo
(de 1,9% para 1,8%). A partir da dcada de 1990, verificou-se aumento
nessa participao de 273% (de 1,8% em 1990 para 3,7% em 2000) que se
acelerou ainda mais durante a dcada de 2000. Entre 2000 e 2005, perodo
de expanso da economia mundial, a participao elevou-se de 3,7% para
5% (crescimento de 369%), tendncia ampliada entre 2005 e 2010, em vir-
tude da crise internacional que teve menor impacto negativo na China em
relao aos demais pases, j que a participao cresceu de 5% para 9,3%.
Inclusive a participao da economia chinesa ultrapassou a do Japo (8,7%)
em 2010, tornando-se a segunda economia do mundo (tabela 1).
TABELA 1
Participao no PIB global em dlar corrente regies e China
(Em %)
Regio/pas 1980 1990 2000 2005 2010
1
Pases desenvolvidos 76,4 79,7 79,9 76,2 66,5
Pases em desenvolvimento 23,6 20,3 20,1 23,8 33,5
sia 6,2 5,1 7,3 8,9 14,7
China 1,9 1,8 3,7 5,0 9,3
Pases em desenvolvimento exceto China 21,7 18,5 16,4 18,8 24,2
Fonte: Fundo Monetrio Internacional (FMI, 2010).
Elaborao dos autores.
Nota:
1
Estimativa.
309 China e Brasil: oportunidades e desaos
Esse fenmeno foi decorrncia da maior contribuio chinesa para o cres-
cimento mundial entre 1981-1990 e 2001-2010. Nas dcadas de 1980 e 1990,
a China ainda contribuiu pouco para o crescimento, mas mostrou signifcativo
salto entre as dcadas de 1980 e 1990 (de 1,6% entre 1981 e 1990 para 8,4% en-
tre 1991 e 2000). Elevao esta, provavelmente, fruto da confgurao do Grande
Compromisso em 1992, que acelerou a estratgia de crescimento econmico con-
fgurada em 1978. A dcada de 2000 assistiu a uma elevao ainda maior dessa
contribuio para o crescimento da economia mundial (de 8,4% entre 1991 e
2000 para 15,2% entre 2001 e 2010) (tabela 2).
TABELA 2
Contribuio ao crescimento do PIB global em dlar corrente regies e China
(Em %)
Regio/pas 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2008 2009 2010
1
Pases desenvolvidos 82,8 80,3 52,0 41,0 -69,0 31,9
Pases em desenvolvimento 17,2 19,7 48,0 59,0 -31,0 68,1
sia 4,0 12,1 22,8 24,7 13,2 30,6
China 1,6 8,1 15,2 18,4 13,9 18,5
Fonte: FMI (2010).
Elaborao dos autores.
Nota:
1
Estimativa.
A dinmica do produto chins, na dcada de 2000, veio acompanhada do
aumento de sua importncia para a evoluo do comrcio mundial que apre-
sentou crescimento elevado entre 2000 e 2009 (de 9,4% e de 9,3% para as
exportaes e as importaes, respectivamente, em mdias anuais tabela 3)
e superior ao produto mundial no mesmo perodo (3,6% em mdias anuais).
O perodo compreendido entre 2000 e 2009 foi marcado por mu-
danas significativas no processo de integrao comercial tanto no que diz
respeito a seu volume quanto localizao de seus fluxos, em virtude do
explosivo aumento das exportaes (de US$ 249 bilhes em 2000 para
US$ 1,202 trilho em 2009 elevao de 38,2% em mdias anuais) e das
importaes (de US$ 225 bilhes em 2000 para US$ 1,004 trilho em
2009 expanso de 34,6% em mdias anuais) chinesas (tabela 3). Cresci-
mentos estes superiores elevao das taxas de exportaes e importaes
mundiais, gerando assim mudana significativa na participao da China
no comrcio mundial.
310 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
TABELA 3
Evoluo de exportaes, importaes e corrente de comrcio da China valor e
participao mundial
(Em US$ correntes)
Exportaes Importaes Corrente de comrcio
Valor % Valor % Valor %
1980 1989 31 1,4 35 1,6 66 1,5
1990 1999 129 2,9 114 2,6 243 2,6
2000 249 3,9 225 3,4 474 3,7
2001 266 4,3 244 3,8 510 4,1
2002 326 5,1 295 4,5 621 4,8
2003 438 5,9 413 5,3 851 5,6
2004 593 6,5 561 5,9 1.155 6,2
2005 762 7,3 660 6,1 1.422 6,7
2006 969 8,0 792 6,4 1.761 7,2
2007 1.218 8,8 956 6,7 2.174 7,7
2008 1.429 8,9 1.132 6,9 2.560 7,9
2009 1.202 9,7 1.004 7,9 2.206 8,8
2010
1
990 10,4 886 9,0 1.876 9,7
Fonte: Direo de Estatsticas Comerciais/FMI.
Elaborao dos autores.
Nota:
1
Acumulado dos trs primeiros semestres do ano
Nesse sentido, a China passou condio de maior exportador e de segundo
maior importador mundial. Os dados na tabela 3 evidenciam a extraordinria
mudana de posio chinesa em to pouco tempo. Em 2000, 3,9% e 3,4% das ex-
portaes e das importaes de bens, respectivamente, originavam-se da China, ao
passo que em 2008 essa participao saltou para 8,9% e 6,9%. Cabe observar que,
aps a crise internacional de 2008, essa tendncia se acelerou, pois a participao
chinesa nas exportaes e nas importaes mundiais saltou de 9,7% em 2009 para
10,4% em 2010 e de 7,9% em 2009 para 9% em 2010, respectivamente.
Alm da alterao na participao mundial, a elevao das importaes e das
exportaes chinesas transformou a corrente de comrcio mundial.
1
Entre 2000
e 2009, a corrente aumentou 4,6 vezes entre a China e o mundo e 1,9 vezes em
termos globais (tabela 3). Essa evoluo evidencia a responsabilidade da China
pela mudana recente dos fuxos comerciais mundiais e mostra a importncia do
papel desempenhado pelo comrcio internacional na estratgia de crescimento
chins. Existem vrios elementos explicativos para esta expanso, entre os quais se
1. No apenas em matria de volume de comrcio, mas tambm a China teve efeito signicativo na intensidade tec-
nolgica exportada, incluindo seus parceiros asiticos. Ver Nonnemberg (2011).
311 China e Brasil: oportunidades e desaos
destacam: i) a poltica cambial que busca manter o iuane desvalorizado em relao
ao dlar; ii) salrios baixos e ganhos de produtividades da economia; e iii) entrada
da China Organizao Mundial do Comrcio (OMC), em novembro de 2001.
Esses dados descrevem o impressionante desempenho econmico da China
denominado de milagre econmico , bem como o aumento expressivo da impor-
tncia da economia chinesa para a economia mundial na primeira dcada do sculo
XXI, especialmente aps a crise internacional. A ascenso da China com a manuten-
o do elevado poder relativo dos Estados Unidos tem gerado tenses geopolticas,
2
sobretudo aps a crise internacional de 2008.
Como a China conseguiu em apenas trs dcadas mudar de forma signif-
cativa sua importncia no sistema mundial? O que explica o milagre econmico
chins? A resposta a esta questo s pode ser compreendida a partir dos condicio-
nantes externos e internos. As condies iniciais para a arrancada chinesa surgem
em 1978 por meio da confgurao de novos, poca, condicionantes externos
3
parceria estratgica que possibilita a incluso da China ao mercado de bens e ao
mercado de capitais norte-americanos e internos pautados pela nova estratgia
de desenvolvimento, idealizada por Deng Xiaping e seus seguidores, formalizada
no XI Comit Central do Partido Comunista Chins em 1978
4
(FIORI, 2008;
MEDEIROS, 2008).
O padro de crescimento dos ltimos 30 anos da China provocou elevada
concentrao de renda regional, funcional e pessoal
5
que, para algumas cor-
rentes do Partido Comunista Chins (PCC), estaria deteriorando a construo de
2. Inmeros fatores contribuem para o aumento dessas tenses, cujas causas no sero desenvolvidas neste espao.
Como exemplo, podem-se levantar dois que so preocupantes. O primeiro faz referncia ao conhecido e tnue equil-
brio de poderes na bacia do Pacco, regio tradicionalmente marcada por tentativas expansionistas por praticamente
todos os principais Estados na primeira semana de dezembro de 2010, a China estava simbolicamente cercada por
tropas americanas, sul-coreanas e japonesas devido ao exerccio militar conjunto no mar do Japo (DIEGUEZ, 2011).
O segundo, menos conhecido, relaciona-se ao fato de a China possuir uma zona econmica exclusiva martima muito
pequena ante o tamanho de seu territrio, populao e poder militar. Enquanto os Estados Unidos possuem uma ZEE
de 11,4 milhes km, a Frana de 11 milhes km, a Rssia de 7,7 milhes km, o Japo de 4,5 milhes km, o Brasil de
3,6 milhes km e a ndia de 2,3 milhes km, a ZEE da China de apenas 880 mil km. Ao mesmo tempo, o pas tem
carncia grande de depsitos de hidrocarbonetos em seu territrio, enquanto que, tanto no mar da China meridional
como no mar da China oriental, h grandes depsitos de petrleo e gs natural. Em funo disso, a China tem buscado
expandir sua presena nestes dois mares, inclusive com reclames territoriais. Este movimento comeou em meados
dos anos 1970, quando ela conquistou ao Vietn as ilhas Paracel. Na segunda metade dos anos 1980, ela fez novo
avano territorial, ocupando parte dos recifes Johnson aps conito militar tambm com o Vietn. Trata-se de regio
bastante complexa em funo de que os reclames territoriais so feitos por vrios pases; alm da China e do Vietn,
eles envolvem Malsia, Filipinas, Tailndia, Taiwan e Brunei. Atualmente, a situao est congelada do ponto de vista
militar, mas trata-se de necessidade vital para a China. Dessa forma, a maior presena neste espao tem sido tendncia
nos ltimos anos e, provavelmente, deve manter-se no futuro prximo (ZWEIG; JIANHAI, 2005; ENGLAND, 2010).
3. Os principais condicionantes externos do milagre econmico foram: i) a aproximao entre os Estados Unidos e a
China iniciada em 1978; ii) a ofensiva comercial americana contra o Japo por meio do Acordo de Plaza em 1985;
iii) a ascenso da China na OMC, em novembro de 20014; e iv) a congurao do eixo sino-americano na dcada de
2000. Para uma discrio mais detalhada desses fatores e como eles esto relacionados, ver captulo 1 deste livro.
4. Para uma anlise mais detida da estratgia de desenvolvimento da China, ver captulo 1 deste livro.
5. Ver Nogueira (2011).
312 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
uma sociedade harmoniosa e comunista. Wen Jaibao, premier do Conselho de Es-
tado, em relatrio apresentado na Assembleia Popular Nacional (APN), em 5 de
maro de 2011, deixou claro que o padro de crescimento chins, a despeito do
extraordinrio avano do pas, precisa tornar-se mais equilibrado, coordenado e
sustentvel sobretudo no que diz respeito: necessidade de recursos naturais cres-
cente, em um contexto de restrio ambiental; ao desequilbrio entre investimen-
to e consumo; disparidade de renda; ao desenvolvimento desigual entre reas
urbanas e rurais e entre regies; difculdade do desenvolvimento da capacidade
de inovao cientfca e tecnologia, entre outros problemas (JAIBAO, 2011).
Nesse sentido, as polticas fscal e monetria chinesas confguradas aps a
crise e, sobretudo, o XII Plano Quinquenal (2011-2015), aprovado em 12 de
maro de 2011 pela APN, no deixam dvidas sobre a tentativa de o governo
chins ajustar o padro de crescimento por meio do reforo de ampliao do con-
sumo das famlias, sobretudo as de baixa renda, e da desconcentrao regional dos
investimentos para sustentar o crescimento de longo prazo e, ao mesmo tempo,
reduzir as desigualdades.
Para Jaibao, o XII Plano Quinquenal (2011-2015) essencial para a cons-
truo de uma sociedade prspera em todos os aspectos, para o aprofundamento
das reformas e da abertura e para acelerar a transformao do modelo de desen-
volvimento econmico.
6
Algumas das principais metas estabelecidas pelo plano
evidenciam essas preocupaes do governo chins, entre as quais se destacam:
crescimento mdio de 7% do PIB, patamar menor do que o dos ltimos planos;
ampliao do consumo das famlias, especialmente as mais pobres; aumento em
4 pontos percentuais da participao do setor de servios no PIB por meio do
desenvolvimento em segmentos de alto valor agregado; manuteno da estabi-
lidade de preo; crescimento da inovao, ampliando os gastos para 2,2% do
PIB em pesquisa e desenvolvimento (P&D); expanso da efcincia energtica
e da utilizao de mais energia limpa; produo de 540 milhes de toneladas de
gros anualmente; aumento e melhoraria dos servios pblicos tanto para os
residentes urbanos e rurais; poltica salarial com o objetivo de realizar aumentos
de 13% ao ano (a.a.) para o salrio mnimo; regimes de penses para cobrir todos
os residentes rurais e 357 milhes de moradores urbanos; construo e renovao
de 36 milhes de apartamentos e casas para famlias de baixa renda.
A mudana no padro de crescimento no tarefa simples e o governo chi-
ns sabe dessa difculdade, ainda que este disponha, em boa medida, de instru-
mentos governamentais e recursos para realizar essa transio. H, no entanto,
trs variveis que podem difcultar esse processo e que no esto sob controle do
6. (...) building a moderately prosperous society in all respects and for deepening reform and opening up and speeding
up the transformation of the pattern of economic development. (JAIBAO, 2011, p. 1).
313 China e Brasil: oportunidades e desaos
Estado chins: alimentos, matrias-primas e recursos energticos. Essa mudana
do padro de crescimento que vir acompanhada de uma desacelerao do cres-
cimento (entre 2% e 3%), por um lado, tende a gerar desacelerao do ritmo
de crescimento da demanda de matrias-primas e energia, mas mesmo assim a
quantidade de recursos demandados ser elevada. Por outro lado, a tentativa de
mudana na composio do crescimento reduo da participao do investi-
mento no PIB com elevao do consumo das famlias e ampliao dos servios
pblicos e da seguridade social tende a gerar aumento no consumo de alimen-
tos e de bens de consumo. Isso porque o possvel aumento da renda dos mais
pobres que possuem maior propenso a consumir poder gerar o aumento da
demanda dos produtos direcionados a esse segmento, mesmo com a desacelerao
do crescimento do PIB.
Esses elementos macroeconmicos da economia chinesa no ps-crise inter-
nacional, associados consolidao do eixo sino-americano de acumulao mun-
dial na dcada de 2000, notadamente aps a crise internacional, vm gerando
efeitos relevantes no mbito comercial, fnanceiro e produtivo da economia mun-
dial e brasileira. De forma estilizada, Pinto (2010a, 2010b) e Holland e Barbi
(2010) apresentam algumas possveis mudanas em curso:
No mbito comercial, reforaram-se as relaes entre os BRICs
(Brasil, Rssia, ndia e China), em grande medida, devido necessi-
dade chinesa cada vez maior de alimentos, petrleo, minrio e outras
matrias-primas, ao passo que Brasil, ndia e Rssia so grandes pro-
dutores desses produtos. Os primeiros dados do ps-crise sinalizam
que vem ocorrendo uma acelerao dessa dinmica.
O efeito China pode estar invertendo, no mnimo no mdio prazo, os
termos de troca em favor dos pases perifricos produtores de matrias-
-primas. Por um lado, a necessidade chinesa de grande quantidade de
matrias-primas e alimentos reitera a posio altista dos preos das
commodities. Por outro lado, a produo de manufaturas chinesas, in-
tensiva em trabalho e tambm em tecnologia, para o mercado interno
e para exportao refora a posio baixista dos preos desses produtos,
devido ao efeito escala da produo chinesa. Isso poder gerar mudan-
as nas estruturas das exportaes e das importaes de diversos pases.
A crise de 2008 acirrou os confitos comerciais entre os Estados Unidos,
a Unio Europeia e a China, que passam pelas questes tarifrias e no
tarifrias e cambiais guerra cambial entre Estados Unidos e China.
A forte injeo de liquidez pelo governo americano, durante e aps o
auge da crise, no se reverte em signifcativos aumentos no produto,
nos investimentos e nos empregos, gerando assim excesso de liquidez.
314 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
Dado que os Estados Unidos so o emissor da moeda mundial, este
excesso gera dois movimentos: i) a desvalorizao do dlar em relao
s outras moedas exceo ao caso chins que adota estratgia reativa
de atrelamento de sua moeda ao dlar); e ii) a abundncia de dlares
no mercado mundial. Isso signifca aumento de liquidez que se destina
busca de aplicaes rentveis mercados futuros de commodities e
aplicaes em mercados de ttulos e aes , especialmente nos pases
emergentes, pressionando ainda mais a valorizaes das moedas locais e
difcultando a competitividade de suas exportaes.
No mbito produtivo, a mudana do modelo chins pode signifcar
transformaes estruturais na diviso internacional do trabalho e das
prprias plantas de produo, em virtude da tendncia de elevao dos
preos das commodities, bem como da presso competitiva chinesa sobre
os parques industriais mais complexos, inclusive o brasileiro.
No mbito do fuxo de capitais, essa nova dinmica pode signifcar uma
realocao dos IDEs, ao redor do planeta, ao se destinarem a setores
voltados aos suprimentos de alimentos e matrias-primas destinadas ao
mercado chins. No so poucos os sinais desse processo; basta obser-
var, por exemplo, a expanso chinesa na frica e na Amrica Latina e
mais recentemente as investidas do capital chins no Brasil.
Alm da busca por energia e alimentos, o IDE chins no mundo tam-
bm tem se voltado para setores que a indstria chinesa tem se desen-
volvido recentemente (automobilstica, informtica, eletroeletrnica)
e provavelmente tem como objetivo fortalecer as empresas domsticas
(Lenovo computadores; Huawei equipamentos de telecomunica-
es; Haier eletrodomsticos e eletroeletrnicos; Chery Automobile
automveis; entre outras).
Esse novo contexto mundial, caracterizado pela ascenso chinesa, traz consigo
oportunidades e desafos para a economia brasileira, sobretudo no que diz respeito
sua relao direta (comercial e investimentos externos) com a China. No mbito
comercial, verifca-se uma mudana de patamar que ser detalhada a seguir.
315 China e Brasil: oportunidades e desaos
3 RELAES COMERCIAIS ENTRE BRASIL E CHINA: DESEMPENHO E
INSTRUMENTOS DE POLTICA
A evoluo das relaes comerciais entre Brasil e China, entre 2000 e 2010,
tem apresentado crescimento superior elevao do comrcio entre o Brasil e o
mundo, gerando o aumento da participao das exportaes e das importaes
brasileiras para a China. Entre 2000 e 2010, as exportaes do Brasil para a
China elevaram-se de US$ 1,1 bilho (2% do total das exportaes do Brasil)
para US$ 30,8 bilhes (15% do total), ao passo que as importaes brasileiras
da China cresceram de US$ 1,2 bilho (2% do total) para U$ 25,6 bilhes
(14% do total) (grfcos 1 e 2). Ao longo desses perodos, o saldo foi positivo
para o Brasil em seis anos.
As exportaes brasileiras para o mundo somaram mais de US$ 55 bi-
lhes em 2000 e chegaram a US$ 197,9 bilhes em 2008, caindo no ano
seguinte para US$ 153 bilhes (25% menos que o valor do ano anterior)
como resultado da crise econmica e fnanceira internacional, cujos impactos
negativos se fzeram sentir sobre o volume de comrcio mundial. Em 2010, as
exportaes brasileiras voltaram a crescer, superando as expectativas ofciais,
com um volume de US$ 201,9 bilhes, resultado em grande parte do aumen-
to dos preos das commodities.
Do lado das importaes, estas tambm foram crescentes no perodo 2000-
2008, apresentando declnio em 2009, e voltando a crescer em 2010. Cabe obser-
var que as importaes brasileiras ante a crise internacional foram mais sensveis
do que as exportaes: houve reduo no volume importado de quase US$ 50
bilhes em 2009, o que signifcou queda em torno de 35% em relao ao ano an-
terior. De modo geral, a corrente de comrcio brasileiro (a soma das exportaes
e das importaes) triplicou em 2010 em relao a 2000, atingindo US$ 382,5
bilhes. O pas manteve saldos positivos em seu comrcio exterior durante esses
anos, ainda que a partir de 2006 os supervits tenham sido cada vez menores,
chegando a registrar em 2010 apenas US$ 20 bilhes, frente ao maior saldo de
US$ 46,5 bilhes registrado em 2006.
316 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
GRFICO 1
Exportaes brasileiras para o mundo e para a China
(Em US$ bilhes)
55,1
58,3
60,4
73,2
96,7
118,5
137,8
160,6
197,9
201,9
153,0
4,5
5,4
6,8
8,4
10,7
16,4
20,2
2,5
1,9
1,1
30,8
0
50
100
150
200
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0
10
20
30
Mundo (eixo esquerdo) China
Fonte: Comtrade/Organizao das Naes Unidas (ONU).
Elaborao dos autores.
GRFICO 2
Importaes brasileiras do mundo e da China
(Em US$ bilhes)
55,9 55,6
47,2 48,3
62,8
73,6
91,4
120,6
173,0
181,6
127,7
3,7
5,4
8,0
12,6
15,9
2,1
20,0
25,6
1,2
1,3 1,6
0
50
100
150
200
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0
10
20
30
Mundo (eixo esquerdo) China
Fonte: Comtrade/ONU.
Elaborao dos autores.
317 China e Brasil: oportunidades e desaos
No mesmo perodo em anlise, as exportaes brasileiras para a China sa-
ram de pouco mais de US$ 1 bilho em 2000 para US$ 30,7 bilhes em 2010,
sendo que, diferentemente das exportaes do Brasil para o resto do mundo,
esse crescimento no foi afetado pela crise de 2008. Ou seja, alm da rpida
expanso das exportaes brasileiras para a China, esse pas contribuiu para mi-
nimizar as perdas comercias derivadas da signifcativa queda dos fuxos de co-
mrcio em nvel global. Em termos de participao, a ascenso da China como
parceiro comercial tem surpreendido. Em 2000, os dez principais destinos das
exportaes brasileiras eram, em ordem decrescente: Estados Unidos, Argentina,
Holanda, Alemanha, Japo, Itlia, Frana, Blgica, Mxico e Reino Unido, os
quais respondiam por 66% das exportaes brasileiras totais (grfco 3). Em
2010, esse quadro apresentou duas mudanas importantes: i) maior desconcen-
trao geogrfca, com os dez maiores destinos das exportaes contabilizando
55,3%; e ii) confrmao da China como maior destino das exportaes brasi-
leiras posio alcanada j em 2009, quando deslocou os Estados Unidos ,
absorvendo 15,2% do total exportado pelo Brasil.
GRFICO 3
Participao dos dez principais pases de destino das exportaes brasileiras
(Em %)
61
61
60
57
55 55
54
53
55,3
66
2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
China: 5,8 3
o
lugar
China: 15,2 1
o
lugar
China: 3,3 6
o
lugar
Fonte: Comtrade/ONU.
Elaborao dos autores.
Assim como nas exportaes, a China tem avanando, desde 2001,
como um dos principais pases de origem das importaes brasileiras. Os trs
maiores parceiros Estados Unidos, Argentina e Alemanha tm diminu-
do suas participaes. No caso dos Estados Unidos, verifca-se tendncia de
queda mais pronunciada (grfco 4). Embora em valores absolutos o Brasil
venha aumentando suas importaes desse pas Estados Unidos, as compras
de produtos chineses China tm crescido a um ritmo muito superior: em
2001, o Brasil importou dos Estados Unidos US$ 13,1 bilhes, e da Chi-
na apenas 10% desse valor. Em 2010, as importaes do primeiro somaram
US$ 27,3 bilhes, e do segundo, mais de US$ 25 bilhes. Espera-se que em
2011 a China assuma tambm a primeira posio nas importaes brasileiras.
318 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
GRFICO 4
Evoluo da participao dos principais pases de origem das importaes brasileiras
(Em %)
China
Estados Unidos
Argentina
Alemanha
Linear (Estados Unidos)
Linear (China)
0
5
10
15
20
25
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Estados Unidos
China
Fonte: Comtrade/ONU.
Elaborao dos autores.
A rpida ascenso da China como parceiro comercial do Brasil pode ser
verifcada pelo grau de integrao da economia brasileira com esse pas, vis--vis
com o resto do mundo. Utilizando como indicador a corrente de comrcio com
cada uma dessas reas sobre o PIB brasileiro, observa-se que a integrao com a
China, ainda que em patamares menores, tem sido crescente: saiu de 0,5% em
2000 para 2,5 % em 2009, enquanto com o mundo esse percentual decresceu
depois de 2003, de 24% para 17% (grfco 4).
GRFICO 5
Grau de abertura comercial Brasil/mundo e Brasil/China
(Em %)
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
Corrente mundo/PIB (eixo esquerdo) Corrente China/PIB
Fonte: Comtrade/ONU.
Elaborao dos autores.
Outro indicador da crescente importncia da China para o desempenho
comercial brasileiro o ndice de intensidade de comrcio entre os dois pases.
319 China e Brasil: oportunidades e desaos
Esse ndice permite verifcar se as exportaes totais do pas s para d como por-
centagem das exportaes totais de s superam as exportaes totais do mundo
para d. Basicamente, uma medida de market share de d na pauta comercial de s
ponderada pelo tamanho da economia de d, medido pelo market share que esse
representa na pauta mundial. Se o resultado for maior que 1, conclui-se que d tem
mais importncia nas exportaes de s do que nas exportaes mundiais.
7
Partindo-se dessa defnio, foram obtidos dois ndices de intensidade de
comrcio: um do Brasil com a China exportaes e outro da China com o
Brasil importaes. O grfco 6 mostra que ambos os ndices cresceram entre
2000 e 2010. Nas exportaes, passou de 0,6 para 1,88, superando a unidade j
em 2002. J nas importaes, esse ndice cresceu de 0,34 para 1,005, superando
a unidade apenas em 2008, com leve queda em 2009.
GRFICO 6
ndice de intensidade de comrcio Brasil versus China
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Brasil/China China/Brasil
Fonte: Comtrade/ONU.
Elaborao dos autores.
O resultado desse exerccio pode ser colocado nos seguintes termos: o Brasil tem
uma intensidade de comrcio crescente com a China, desde 2002, como mostra o n-
dice maior que 1, enquanto a intensidade de comrcio da China com o Brasil menor,
embora crescente maior que 1 apenas em 2008. Isso denota que a China mais im-
portante para as relaes comerciais do Brasil do que o para o resto do mundo, acen-
tuando o carter de relao comercial de crescente dependncia do Brasil com esse pas.
7. Formalmente, o ndice obtido da seguinte forma:
Se IT >1, ento o market share que d representa nas exportaes totais de s supera esse mesmo market share nas
exportaes mundiais. Em outras palavras, d tem mais importncia nas exportaes de s do que nas exportaes
mundiais. Se as exportaes forem substitudas pelas importaes, ento, por denio, obtm-se uma medida de
intensidade de comrcio de d com s, e a interpretao do ndice similar.
320 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
Em relao estrutura da pauta comercial brasileira, tem-se observado nos
ltimos dez anos mudanas na composio tanto das exportaes quanto das
importaes. Utilizando-se a classifcao da Organizao das Naes Unidas
para produtos comercializados, por intensidade tecnolgica dados at 2009 ,
verifca-se que, em 2000, cerca de 50% das exportaes brasileiras eram de pro-
dutos primrios e as manufaturas intensivas em recursos naturais. Os produtos
de alta, mdia e baixa tecnologia representavam, respectivamente, 12%, 26%
e 13% do total exportado. Em 2009, os produtos primrios e as manufaturas
intensivas em recursos naturais j respondiam por quase dois teros das exporta-
es brasileiras, enquanto os produtos de alta, mdia e baixa tecnologia respon-
deram conjuntamente por 32,7% (grfco 7). Este quadro acentuou-se particu-
larmente a partir de 2005, sendo os produtos de baixa e alta tecnologia os que
mais perderam participao na pauta.
No caso das importaes, entre 2000 e 2009, houve aumento na participa-
o dos produtos importados de baixa tecnologia (de 5% para 10%) e de alta tec-
nologia (34% para 37%) e reduo no caso das importaes de produtos de alta
tecnologia (de 24% para 20%), assim como de produtos primrios e manufaturas
intensivas em recursos naturais (de 37% para 33%).
GRFICO 7
Evoluo da pauta exportadora brasileira com o mundo participao dos produtos,
por intensidade tecnolgica
(Em %)
22
25
27 28 28
26 27
29
31
34
28
28
28
28
26
28
30
30
30
32
12
11
10
11
10
9
9
8
7
6
26
23
24
25
28
28
27
26 25
20
13 12
10
8 7 8 8 7 7
7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Alta tecnologia Mdia tecnologia Baixa tecnologia
Manufaturas intensivas em recursos Produtos primrios
Fonte: Comtrade/ONU.
Elaborao dos autores.
Em termos absolutos, at a crise de 2008, todas essas categorias de produtos
vinham crescendo, embora em ritmos diferentes, sendo que algumas delas apre-
321 China e Brasil: oportunidades e desaos
sentaram dfcits ao longo dos anos 2000. Observando-se a balana comercial
brasileira no perodo 2000-2010, por intensidade tecnolgica do produto, pode-
-se concluir que o Brasil sistematicamente defcitrio em produtos de alta tecno-
logia e parcialmente em produtos de mdia tecnologia (grfco 8). Os supervits
em produtos de baixa tecnologia vm se reduzindo, com tendncia de dfcits nos
prximos anos. Os saldos positivos apresentam-se do lado dos produtos primrios
e das manufaturas intensivas em recursos naturais.
GRFICO 8
Balana comercial brasileira com o mundo, por intensidade tecnolgica do produto
(Em US$ bilhes)
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
2000 2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003
Produtos primrios Manufaturas intensivas em recursos
Baixa tecnologia
Mdia tecnologia
Alta tecnologia
Fonte: Comtrade/ONU.
Elaborao dos autores.
No que se refere pauta comercial do Brasil com a China, pergunta-se:
O acelerado crescimento das exportaes para a China tem alavancado quais gru-
pos de produtos? Qual o efeito dessas exportaes sobre a insero dos produtos
brasileiros de maior intensidade tecnolgica no mundo? Analisando os dados da
pauta exportadora do Brasil com a China, Torstensen (2011) afrma que a pau-
ta vem se concentrando em produtos bsicos. Entre 2000 e 2009, os produtos
bsicos passaram de 68% para 83% da pauta. Os produtos que apresentaram a
maior participao das exportaes, em 2010, foram minrios (40%), oleagino-
sas (23%) e combustveis minerais (13%), que juntos responderam por 76% das
exportaes brasileiras.
Em termos absolutos, as exportaes de manufaturados intensivos em re-
cursos naturais em 2010 chegaram a somar US$ 16,5 bilhes, ao passo que os
produtos primrios totalizaram US$ 12 bilhes, sendo os segmentos que mais
cresceram durante todo o perodo analisado. Os produtos de baixa tecnologia
responderam por US$ 400 milhes naquele ano e os de mdia e alta tecnologia
por US$ 500 milhes e US$ 1 bilho, respectivamente (grfco 9). Pode-se afr-
322 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
mar que, ao longo dos ltimos dez anos, para cada dlar que o Brasil adquire
de suas exportaes para a China, US$ 0,87 vm de produtos primrios e de
manufaturas intensivas em recursos naturais, US$ 0,07 dos produtos de mdia
intensidade tecnolgica e apenas US$ 0,02 das vendas de produtos de alta tec-
nologia. Fazendo-se o mesmo exerccio para as exportaes do Brasil para o resto
do mundo, obtm-se que os produtos primrios e as manufaturas intensivas em
recursos naturais respondem por US$ 0,58, os produtos de mdia intensidade
tecnolgica por US$ 0,25, os de alta tecnologia e baixa tecnologia em torno de
US$ 0,08, para cada grupo. Infere-se ento que no segmento dos produtos de
mdia intensidade tecnolgica que o Brasil tem mais difculdade em aumentar
suas exportaes para a China, uma vez que esses produtos tm maior presena
em outros mercados mundiais.
GRFICO 9
Pauta exportadora do Brasil com China, por intensidade tecnolgica do produto
(Em US$ bilhes)
-1,0
1,0
3,0
5,0
7,0
9,0
11,0
13,0
15,0
17,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Produtos primrios Manufaturas intensivas em recursos naturais
Baixa tecnologia Mdia tecnologia
Alta tecnologia
Fonte: Comtrade/ONU.
Elaborao dos autores.
A participao brasileira nas importaes chinesas entre 2005 e 2009 cres-
ceu de 1,5% para 2,8%. Os produtos brasileiros que possuem maior peso no
total das importaes chinesas so: fumo (46%), oleaginosas (35%), preparao
de hortculas e frutas (21%), minrios (19%) e pasta de madeira e celulose (12%)
(THORSTENSEN, 2011).
A pauta de importao do Brasil com a China por intensidade tecnolgica
mostra o seguinte comportamento: as importaes de produtos de alta tecnologia
aumentaram signifcantemente em termos de valores entre 2000 e 2010, saindo de
323 China e Brasil: oportunidades e desaos
US$ 487 milhes em 2000 para US$ 8 bilhes em 2008 e quase US$ 10 bilhes
em 2010 (grfco 10). Ao longo desses anos, a participao desses produtos no
total importado da China nunca foi menos que 36%, chegando a atingir em 2005
participao de mais de 50%. Nos dois ltimos anos, essa participao tem cado
ligeiramente. Tambm o aumento das importaes de produtos chineses de mdia
intensidade tecnolgica tem elevado a participao dessa categoria de produtos na
pauta importadora, passando de 16% em 2000 para 44% em 2009. Justamente
no segmento em que o Brasil tem mais difculdade de acessar o mercado chins
por meio das exportaes. A mesma tendncia tem se manifestado no caso dos
produtos de mdia intensidade tecnolgica.
As participaes dos principais produtos chineses importados pelo Brasil em
2009 foram: mquinas e aparelhos eltricos (33%), caldeiras e mquinas mecni-
cas (20%) e qumicos orgnicos (7%).
GRFICO 10
Pauta importadora do Brasil com a China, por intensidade tecnolgica do produto
(Em US$ bilhes)
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Produtos primrios Manufaturas intensivas em recursos naturais
Baixa tecnologia Mdia tecnologia
Alta tecnologia
Fonte: Comtrade/ONU.
Elaborao dos autores.
Quanto balana comercial do Brasil com a China, por intensidade tec-
nolgica do produto, nota-se pelo grfco 11 que os supervits so crescentes
nos produtos primrios e nas manufaturas intensivas em recursos naturais; no
entanto, para as demais categorias (baixa, mdia e alta tecnologia) ocorre apro-
fundamento do dfcit comercial, particularmente para no caso dos produtos de
mais alta intensidade tecnolgica.
324 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
GRFICO 11
Balana comercial do Brasil com a China, por intensidade tecnolgica do produto
(Em bilhes)
-10
-5
0
5
10
15
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
B
i
l
h
e
s
Produtos primrios
Manufaturas intensivas em recursos naturais
Baixa tecnologia
Mdia tecnologia
Alta tecnologia
Fonte: Comtrade/ONU.
Elaborao dos autores.
Analisando-se os 20 principais grupos de produtos exportados para a
China, observa-se que, em 2000, os dez primeiros responderam por 82% da
pauta, sendo que as exportaes de sementes e frutos oleaginosos e de minrio
de ferro e seus concentrados lideraram a lista, concentrando 56% das exporta-
es totais. Em quinto e sexto lugares, vieram aeronaves, partes e equipamen-
tos relacionados, e petrleo bruto e leos de minerais betuminosos, responden-
do por cerca de 7%. A partir de 2006, pde-se observar maior concentrao
da pauta exportadora, com os dez primeiros grupos de produtos respondendo
por 87% das exportaes e, em mdia, por 93% entre 2008 e 2010. Em 2010,
minrio de ferro e seus concentrados, sementes e oleaginosas, e petrleo j
estavam respondendo por 82% das exportaes totais.
Em termos de valor, o Brasil exportou para a China, entre 2000 e 2010,
US$ 848 milhes em peas e acessrios para veculos automotores e cerca de
US$ 1,3 bilho em aeronaves, partes e equipamentos relacionados. No mesmo
perodo, foram exportados US$ 36,6 bilhes em minrio de ferro e seus concen-
trados, US$ 30,4 bilhes em sementes e frutos oleaginosos, e US$ 9,6 bilhes em
petrleo bruto e leos de minerais betuminosos cuja importncia na pauta se
acelerou a partir de 2004, at se ocupar o terceiro lugar desde 2005 e US$ 4,8
bilhes em pasta de papel e celulose.
325 China e Brasil: oportunidades e desaos
Essa dinmica do comercial entre Brasil e China pode ser analisada por meio
de vrias dimenses; destacar-se-o aqui as polticas comerciais de cada um desses
pases, notadamente no que tange a seus instrumentos.
3.1 Instrumentos de comrcio internacional da China e do Brasil
8
A Poltica de Comrcio Internacional tem como instrumento bsico de proteo a
utilizao de tarifas e cotas tarifrias, conforme acordado na OMC. Tarifas estas que
vm sendo reduzidas a cada rodada de negociao. Esse tipo de proteo comercial
tem sido substitudo por barreiras no tarifrias barreiras tcnicas, sanitrias e
ftossanitrias, fnanceiras, cambiais, trabalhistas, ambientais etc. , que so instru-
mentos menos transparentes, j que no so respaldados pelos acordos multilaterais.
Dado o processo de acesso da China OMC e a importncia do comrcio inter-
nacional para seu padro de crescimento, o governo chins optou por uma estratgia de
rpida reduo de tarifas. Em 2009, a tarifa consolidada mdia foi de 10% (15,7 % para
bens agrcolas e 9,2 % para bens no agrcolas), ao passo que a tarifa aplicada mdia foi
de 9,6% (5,6% para bens agrcolas e 8,7% para bens no agrcolas). Em 2008, a tarifa
mdia ponderada pelo comrcio foi de 4,3% (10,3% para bens agrcolas e 4% para
bens no agrcolas) (tabela 4). Tarifas estas menores do que as observadas nos pases em
desenvolvimento e com 100% de suas linhas consolidadas (THORSTENSEN, 2011).
TABELA 4
Perl tarifrio das importaes chinesas
Resumo Ano Total Agrcola No agrcola Membro da OMC desde 2001
Tarifa mdia consolidada 2009 10,0 15,7 9,2
Linhas tarifrias
consolidadas
(em %)
Total 100
Tarifa mdia aplicada 2009 9,6 15,6 8,7 No agrcola 100
Tarifa mdia ponderada pelo
comrcio mdia
2008 4,3 10,3 4
Cotas tarifrias
(em%)
5,0
Importaes (bilhes de US$) 2008 1.035,7 53,6 982,2
Salvaguardas especiais
(em%)
0
Fonte: OMC apud Thorstensen (2011).
Elaborao dos autores.
As tarifas de importao chinesa apresentam a seguinte variao: de 0% a
65% para produtos agrcolas e de 0% a 50% para no agrcolas. Cabe observar
que os valores das tarifas aplicadas e consolidadas apresentam valores prximos
e que o sistema complexo, pois existem mais de 60 taxas ad valorem vigentes.
O comrcio de processados (processing trade) quando reexportados caractersti-
co das zonas econmicas especiais (ZEEs) isento de tarifrias. As tarifas mais
altas so observadas nos seguintes setores: cereais (65%), bebidas e tabaco (65%),
acar (50%) e qumicos (47%).
8. Esta subseo foi elaborada a partir das ideias apresentadas em Thorstensen (2011).
326 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
A despeito das reduzidas tarifas de importao, a China vem utilizando me-
didas de proteo no tarifrias, tais como licenas de importao e exportao.
Pelo lado das importaes, as barreiras no tarifrias esto associadas a exigncias
tcnicas (normas, padres, sistema obrigatrio de certifcao), medidas sanitrias
e ftossanitrias etc. O Secretariado da OMC avalia que essas normas vm sendo
utilizadas como instrumento de barreiras ao comrcio, inclusive elas tm sido
questionadas. Pelo lado das exportaes, as barreiras no tarifrias so dadas por
restries, proibies, licenas, cotas, taxas e isenes fscais. As justifcativas do
governo chins para essas medidas esto associadas economia de energia, pro-
teo ambiental e conservao de recursos naturais (THORSTENSEN, 2011).
No que diz respeito aos instrumentos medidas antidumping, medidas com-
pensatrias e salvaguardas de defesa comercial regulados pela OMC, verifca-se
que a maioria dos pases tende a utilizar as medidas de antidumping em virtude de
sua maior facilidade na aplicao, j que esta incide diretamente sobre a empresa
exportadora. Entre 1995 e 2010, a China foi o principal alvo dessas medidas, sobre-
tudo as de antidumping iniciou/aplicou cerca de 748/563 medidas. Nesse sentido,
(...) os membros que mais iniciaram/aplicaram antidumping contra a China foram:
ndia (137/105), Estados Unidos (101/79), Unio Europeia (96/68), Argentina
(82/53), Turquia (57/55) e Brasil (41/30). Os setores mais afetados foram: metais
(185/128), qumicos (158/125), mquinas e equipamentos eltricos (100/65) e tx-
teis (74/56). (THORSTENSEN, 2011, p. 17).
Por outro lado, a China no foi apenas alvo dessas medidas de defesa co-
mercial, j que tambm as utilizou em seu favor, inclusive iniciou/aplicou me-
didas (182/137) [antidumping] contra vrios membros da OMC. Os pases mais
afetados: Coreia do Sul (31/25), Japo (30/25), Estados Unidos (30/22) e Unio
Europeia (14/9). Os setores mais atingidos foram: qumicos (102/69) e plsticos
(39/36) (THORSTENSEN, 2011, p. 17).
As tarifas de importao no Brasil so superiores as da China, contudo as
barreiras no tarifrias so utilizadas pelo primeiro pas em um grau muito me-
nor do que o observado no segundo. Em 2009, a tarifa consolidada mdia foi
de 31,4% (35,4% para bens agrcolas e 30,7% para bens no agrcolas) e a tarifa
aplicada mdia foi de 13,6% (10,2% para bens agrcolas e 14,1% para bens no
agrcolas). Em 2008, a tarifa mdia ponderada pelo comrcio foi de 8,8% (10,6%
para bens agrcolas e 8,7% para bens no agrcolas) (tabela 5). Tarifas estas me-
nores do que tm 100% de suas linhas consolidadas (THORSTENSEN, 2011).
As tarifas de importao brasileiras apresentam a seguinte variao:
i) de 0% a 55% para produtos agrcolas e de 0% a 35% para no agrcolas
no caso das tarifas consolidadas; e ii) de 0% a 20% para produtos agrcolas
e de 0% a 35% para no agrcolas no caso das aplicadas. As tarifas mais altas
327 China e Brasil: oportunidades e desaos
so observadas nos seguintes setores: caf, cereais, acar, bebidas e tabaco,
minerais e metais, txteis, vesturio, calados, automveis.
TABELA 5
Perl tarifrio das importaes brasileiras
Resumo Ano Total Agrcola No agrcola Membro da OMC desde 1995
Tarifa mdia consolidada 2009 31,4 35,4 30,7
Linhas tarifrias
consolidadas
(em %)
Total 100
Tarifa mdia aplicada 2009 13,6 10,2 14,1 No agrcola 100
Tarifa mdia ponderada pelo
comrcio mdia
2008 8,8 10,6 8,7
Cotas tarifrias
(em %)
0,3
Importaes (bilhes de US$) 2008 171,7 7,5 164,2
Salvaguardas especiais
(em %)
0
Fonte: OMC apud Thorstensen (2011).
Elaborao dos autores.
Quanto aos instrumentos de defesa comercial regulados pela OMC, Torstensen
(2011) afrma que o Brasil tem sido tmido na utilizao dos instrumentos de defesa
comercial no mbito dos instrumentos abertos nas regras da OMC. Nesse sentido, o
Brasil precisa avanar na utilizao desses instrumentos.
Alm da ampliao das relaes comerciais, verifcou-se tambm a inten-
sifcao dos investimentos chineses no Brasil, especialmente a partir de 2009.
Vejamos como se deu esse processo.
4 RELAES BILATERAIS DE INVESTIMENTO BRASIL/CHINA: EXPANSO CHINESA
NO MUNDO, IDE CHINS NO BRASIL E IDE BRASILEIRO NA CHINA
As relaes bilaterais de investimento direto estrangeiro entre Brasil e China tm
se expandido signifcativamente, sobretudo no que diz respeito ao IDE chins no
Brasil e em menor grau pelo lado da presena brasileira na China. A ideia central
desta seo tentar traar consideraes sobre a estratgia chinesa, no intuito de
identifcar elementos sinalizadores de tendncias e prioridades da poltica desse
pas, bem como levantar questes a serem enfrentadas pelo Brasil nesse tema.
4.1 Caractersticas e motivaes da expanso do investimento direto chins
no mundo
O governo da China passou a adotar, no fm da dcada de 1990, estratgia de in-
ternacionalizao de suas empresas como instrumento fundamental para o desen-
volvimento econmico e para a insero geopoltica do pas. Para tanto, no XVI
Congresso do Partido Comunista foi formulado, em 1999, o programa Going
Global, que buscava atingir quatro grandes objetivos, a saber: i) aumentar os in-
vestimentos chineses no exterior por meio da descentralizao e do relaxamento
das concesses de autorizao para sada das empresas chinesas; ii) melhorar o
328 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
nvel e a qualidade dos projetos; iii) reduzir os controles de capital e criar novos
canais de fnanciamento para o mercado nacional; e iv) integrar a poltica de
internacionalizao das empresas chinesas com outras polticas existentes para o
setor externo, buscando promover o reconhecimento das marcas dessas empresas
(ACIOLY; LEO, 2011; HOLLAND; BARBI, 2010).
Esse processo de internacionalizao das empresas chinesas por meio do IDE
foi fortemente comandado pelo Estado, j que este passou a incentivar as empresas
por meio de mecanismos de fnanciamentos e de facilitao do processo adminis-
trativo para a realizao de investimentos diretos no exterior, entre outros incen-
tivos. Como resultado desses estmulos, o estoque de IDE da China no exterior
chegou a US$ 229,6 bilhes no fm de 2009, cerca de oito vezes mais que o valor
de US$ 27,8 bilhes registrado em 2000. Embora a participao do investimento
chins no estoque mundial de IDE ainda seja pequena, menos de 1,2% em 2009,
sua presena tem se mostrado crescente principalmente entre os pases em desen-
volvimento, de 3% em 1990 para 7% em 2008 e 8,5% em 2009 (grfco 12).
Para Holland e Barbi (2010), essa expanso do IDE chins decorre da es-
tratgia governamental que articula, por um lado, o controle dos fornecedores de
energia e alimento e, por outro, a expanso em setores em que as empresas indus-
triais chinesas tm se desenvolvido automveis, informtica, telecomunicaes
etc. , mesmo quando ainda existe amplo mercado domstico para ser explorado.
GRFICO 12
Estoque de IDE no mundo China, 2000-2009
(Em US$ bilhes)
27,8
34,7
37,2
33,2
44,8
57,2
73,3
95,8
147,9
229,6
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fonte: Conferncia das Naes Unidas sobre Comrcio e Desenvolvimento (UNCTAD).
Elaborao dos autores.
A distribuio setorial do estoque de IDE chins mostra que, em 2009, mais
de trs quartos concentraram-se no setor tercirio, particularmente nos servios
fnanceiros e no comrcio de atacado e varejo. O setor primrio veio em segundo
329 China e Brasil: oportunidades e desaos
lugar, respondendo por 17,2%, com destaque para minerao e explorao de pe-
trleo. O segmento de manufaturas apareceu com pequena participao no IDE
realizado pela China 5,2% do estoque total. Cabe destacar que a participao
do IDE chins no setor manufatureiro est subestimada, pois a participao do
setor tercirio fruto do grande volume de IDE relacionado aos investimentos
para constituio das companhias holdings, matrizes regionais, geralmente loca-
lizadas nos centros fnanceiros. A partir desses centros, essas empresas puderam
diversifcar seus investimentos para terceiros pases nos mais diversos setores.
Holland e Barbi (2010) apontam quatro possveis fatores explicativos para
a expanso dos investimentos da China para o exterior, mesmo quando ainda
existe forte potencial de expanso no mercado interno, contrariando as principais
teorias sobre os investimentos produtivos fora do seu territrio. So eles:
1. Tentar garantir acesso s fontes de recursos naturais para manter o cres-
cimento do PIB entre 7% e 10% a.a. Nesse sentido, o governo elaborou
uma poltica agressiva de investimentos externos do tipo resource seeking
orientado para recursos naturais , liderados por grandes empresas
estatais. Alm da garantia das fontes de alimentos e energia, a preocu-
pao com a volatilidade dos preos das commodities tambm foi uma
motivao para que as estatais buscassem controlar de forma direta as
fontes de produo desses produtos.
9
Nesse quadro, a frica,
10
a Amri-
ca Latina
11
e a Oceania
12
passaram a receber mais IDE chins.
2. Buscar maior competitividade para as frmas chinesas em virtude da
entrada da China na OMC, pois isso representou maior abertura do
mercado domstico para as empresas estrangeiras, gerando elevao da
concorrncia e induzindo as frmas chinesas ao processo de conquistas
de novos mercados.
9. Como a poltica industrial est no topo da agenda do governo, existem fortes incentivos para que as empresas
chinesas de energia passem a disputar a compra de empresas localizadas na cadeia de fornecedores deste setor.
10. Na frica, os investimentos aumentaram signicativamente, o que levou o continente a superar os Estados Unidos,
tornando-se o terceiro maior receptor de investimentos chineses. A frica do Sul detm dois teros do estoque, seguido
por Nigria, Zmbia, Arglia, Sudo e Congo. De forma geral, as empresas chinesas que ingressaram no continente
africano investiram em explorao de petrleo, minerao e infraestrutura e tinham origem nos parasos scais mais
de 90% do total.
11. Na Amrica Latina, a maior parte do IDE chins seguiu para Argentina, Venezuela, Brasil, Guiana, Mxico, Cuba e
Peru. Nessa regio, o interesse primordial da China tem sido obter acesso a extrao e produo de recursos naturais
e energia (petrleo, cobre e ferro), para suprir sua demanda interna, mas tambm tem includo investimentos em
montagem de manufaturados, telecomunicaes e txtil.
12. A Oceania importante para a China como fonte de recursos naturais, sendo Austrlia e Papua Nova Guin os
maiores destinos desses uxos. As grandes empresas chinesas de petrleo tm claros interesses nessa regio uma
economia abundante em energia e recursos minerais para produzir gs natural e desenvolver projetos na rea de
minerao (extrao de ouro, cobre, nquel, entre outros). Assim como no caso da Amrica Latina e da frica, os pases
da regio se transformaram em canais indispensveis para alimentar o crescimento da indstria chinesa. A Austrlia
detm investimentos chineses amplamente concentrados na minerao.
330 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
3. Obter maior tecnologia para as frmas chinesas por meio de aquisio
de empresas estrangeiras, notadamente nos pases da Europa
13
e nos
Estados Unidos,
14
que detenham uma base tecnolgica avanada.
4. Aumentar a infuncia poltica da China no mundo, sobretudo na
sia,
15
por meio da realizao dos investimentos e dos fuxos de
comrcio chineses no exterior (Oceania,
16
frica,
17
Amrica Latina
etc.). Desde 2001, uma srie de visitas ofciais foi realizada pela China
aos governos latino-americanos especialmente da Amrica do Sul
e dois fatores tm sido apontados por analistas como importantes para
explicar a agenda e a expanso chinesa: o fator Taiwan e o fator
Estados Unidos. Taiwan tem relaes ofciais diplomticas com 12
dos 25 Estados da regio, para os quais tem sido historicamente uma
fonte de investimento e assistncia fnanceira. A crescente presena
econmica e poltica da China no continente tem colocado Taiwan
sob forte presso competitiva nessas duas dimenses e diminudo sua
esfera de infuncia. Com relao aos Estados Unidos, um melhor
posicionamento da China na regio apontado como desafo in-
funcia americana no continente, em um futuro no muito distante
(DUMBAUGH; SULLIVAN, 2005).
13. Na Europa, os maiores receptores so: Alemanha, Reino Unido e Holanda aquisio da diviso de dispositivos
mveis da holandesa Philips pela China Eletronic. A maior parte desses investimentos dirigida aos servios (55%) e, no
caso das atividades manufatureiras, focada em tecnologia da informao e comunicao e nos setores automobilstico
e de maquinaria. As aquisies e as alianas estratgicas so as principais formas de entrada nos mercados europeus.
14. Nos Estados Unidos, os investimentos tm se realizado de duas maneiras: mediante suas empresas privadas que
criam ou compram empresas americanas menores no ramo de autopeas, impresso etc., ou por meio das grandes
empresas estatais que adquirem corporaes americanas nas reas de tecnologia da informao aquisio da rea
computadores da IBM americana pela Lenovo. No cmputo geral, 70% do IDE chins nos Estados Unidos concentra-
ram-se nas manufaturas.
15. Na sia, o interesse da China mais centrado em Hong Kong e nos pases que compem a Associao de Naes
do Sudeste Asitico (Asean). Os setores de commodities e recursos naturais, como borracha, leo de palma, petrleo,
gs e agrobusiness, atraram investimentos particularmente para Tailndia, Camboja, Malsia, Indonsia, Filipinas,
Vietn e Cingapura. No sul da sia, os investimentos concentraram-se no Paquisto, em atividades tecnolgicas e nos
setores petrolfero e eletrnico, sendo este ltimo efetivado na zona econmica de Haier.
16. Quanto presena chinesa na Oceania, a regio tem papel pequeno, porm crescente, nos interesses econmicos
e estratgicos da China. Desde os anos 1970, a China estabeleceu relaes diplomticas e presena importante nas
ilhas da regio. No perodo recente, Pequim passou a manter dilogo mais prximo e constante por meio do Frum
das Ilhas do Pacco (Pacic Islands Forum). Assumindo compromissos mais concretos no Frum de Cooperao para
o Desenvolvimento Econmico das Ilhas do Pacco e da China realizado em 2006, a China marcou uma mudana em
seus interesses e deu passos rmes para aumentar o comrcio, o investimento e a cooperao tcnica com os pases
da regio. Desde ento, sua poltica externa tem procurado conseguir apoio s suas pretenses na ONU, avanar em
seus objetivos na OMC, bloquear as aspiraes do Japo de ter papel mais ativo nas relaes internacionais, deslocar
a inuncia e a expanso martima da Rssia na regio e isolar o Taiwan.
17. A presena chinesa na frica intensicou-se embora fatores relacionados aos mltiplos interesses da presena
chinesa na frica remontem dcada de 1950 , especialmente a partir do ano 2000, com a realizao do I Cpula
do Frum China-frica de Cooperao (FOCAC), que lanou as bases da cooperao atual entre China e frica e o
estabelecimento em 2006 do pacote de ajuda frica, alm de srie de objetivos que deram origem ao Plano de
Ao Beijing (2007-2009). Algumas das aes propostas incluam o lanamento de uma linha de crdito preferencial
de US$ 5 bilhes, o estabelecimento de um fundo tambm no mesmo valor para apoiar os investimentos chineses
no continente, o compromisso de abertura do mercado chins s exportaes africanas, uma srie de projetos de
infraestrutura e o cancelamento de dbitos ociais de alguns pases com a China.
331 China e Brasil: oportunidades e desaos
O desempenho do investimento direto chins, em termos de volume, dis-
tribuio setorial e geogrfca, refetiu os objetivos e as estratgias das principais
empresas transnacionais do pas. As cinco empresas mais internacionalizadas da
China, segundo a UNCTAD, so: CITIC Group (conglomerado fnanceiro),
Cosco Group (transporte martimo), CSCEC Group (conglomerado no ramo da
construo civil), CNPC (petrolfera) e Sinochen Co. (petrolfera). Alm dessas
frmas, os bancos chineses vm adotando estratgia do tipo strategic asset seeking
orientado para buscar ativos estratgicos , procurando identifcar e expandir seus
negcios para aproveitar a dispora chinesa, dominar as tcnicas avanadas de admi-
nistrao fnanceira nos pases desenvolvidos, bem como realizar negcios de apoio
s empresas chinesas que investiam no exterior. Os bancos tambm tm investido
nos pases em desenvolvimento, especialmente na frica, onde a necessidade de
fnanciamento das empresas chinesas tem aumentado.
As cinco empresas mais internacionalizadas da China expandiram suas vendas
no exterior, assumindo propores signifcativas do faturamento, j que pelo menos
um quarto do total de suas vendas foram realizadas no mercado externo com exce-
o da CNPC. Essas empresas concentraram suas atividades em setores-chave para a
economia chinesa e desempenham papis estratgicos na poltica industrial da China,
relacionados s necessidades de recursos naturais e de energia para sustentao do
ritmo de crescimento. As corporaes de propriedade estatal correspondem ao n-
cleo duro do processo de internacionalizao chins. De acordo com as estimativas
da Organizao para Cooperao e Desenvolvimento Econmico (OCDE, 2008), a
participao das estatais chinesas sob a administrao do governo central, no estoque
total de IDE fora do pas, foi de 84% em 2005 e, em termos de fuxos, de 83,7%
no binio 2004-2006. O restante desses investimentos foi realizado por empresas
estatais sob a administrao de governos locais ou no estatais de vrios tipos de es-
truturas societrias
18
privadas nacionais, privadas estrangeiras, entre outras.
As principais medidas de polticas de apoio internacionalizao das empre-
sas adotadas na China so: incentivos fnanceiros, incentivos fscais, apoio infor-
macional, assistncia tcnica e outros servios, criao de confort zones e acordos
internacionais. A existncia de estratgia de expanso produtiva em funo dos
objetivos da poltica industrial do pas e da sustentabilidade do balano de paga-
mentos controlou o ritmo e a direo do IDE chins e condicionam o grau de
interveno do Estado nesse processo. medida que a restrio externa foi sendo
aliviada pelo acmulo de reservas, a poltica de sada de IDE foi sendo fexibiliza-
da. A direo setorial desses investimentos foi condicionada pelas prioridades da
poltica industrial, que utilizou ampla gama de incentivos para tanto.
18. Inicialmente, as empresas estatais foram autorizadas a operar no exterior; porm, com o andamento da reforma no
setor industrial chins, a presena de empresas privadas nacionais tem aumentado.
332 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
4.2 Principais caractersticas dos investimentos chineses no Brasil
De acordo com o Banco Central do Brasil (BCB), o fuxo de IDE no Brasil
cresceu 66,3% entre 2001-2005 e 2006-2010 (de US$ 20,256 bilhes para
US$ 33,705 bilhes em termos mdios). Em 2010, registrou-se o maior volu-
me da srie histrica, atingindo o total de US$ 52,6 bilhes ante os US$ 30,4
bilhes em 2009 (crescimento de 72%). A disperso do IDE no Brasil, entre
2001 e 2005, foi menor do que a verifcada entre 2006 e 2010. Isso se deveu
ao fato de que, na segunda metade da dcada de 2000, ocorreu signifcativa
elevao tanto em 2008 como em 2010, para o conjunto de pases (tabe-
la 6). Em termos da participao setorial do IDE, verifcou-se um aumento
das atividades agropecurias e de extrativismos mineral (extrao de minerais
metlicos e de petrleo) e dos segmentos industriais voltados produo de
produtos qumicos, petroqumicos e refno de petrleo, ao passo que o setor
de servios vem perdendo participao.
TABELA 6
Fluxo de IDE e de IDE chins e participao Brasil, 2001-2010
(Em US$ milhes)
Ano Total China %
2001 21.042 28,1 0,13
2002 18.778 9,7 0,05
2003 12.902 15,5 0,12
2004 20.265 4,4 0,02
2005 21.522 7,6 0,04
Mdia (2001-2005) 20.265 9,7 0,05
Desvio padro 3.511 9 0,05
2006 22.231 6,7 0,03
2007 33.705 24,3 0,07
2008 43.886 38,4 0,09
2009 30.444 82,0 0,27
2010 52.607 392,0 0,75
Mdia (2006-2010) 33.705 38,4 0,09
Desvio padro 11.854 161 0,30
Fonte: BCB.
A expanso do infuxo do IDE chins no Brasil foi ainda maior do que o to-
tal. Entre 2001-2005 e 2006-2010, constatou-se expanso de 294,5% (de US$ 9,7
milhes para US$ 38,4 milhes em termos mdios). Assim como para o IDE total,
333 China e Brasil: oportunidades e desaos
tambm se observou disperso maior do IDE chins entre os anos 2006 e 2010.
A maior disperso desse perodo foi uma decorrncia da signifcativa elevao dos
fuxos em 2010, j que, entre 2009 e 2010, ocorreu crescimento de 377% (tabela 6).
A despeito do signifcativo crescimento do fuxo de IDE chins no Brasil,
a participao desse pas, pelos dados ofciais do Banco Central, ainda muito
pequena. A China em 2009 ocupou a 27
a
posio dos pases investidores no Brasil
(participao de 0,27% do total), ao passo que em 2010 passou condio de 20
o
(participao de 0,75% do total) (tabela 6).
Os principais destinos setoriais do IDE chins no Brasil, em 2008, foram:
comrcio atacadista de defensivos agrcolas, adubos, fertilizantes e corretivos do
solo (37%); produo de semiacabados em ao (14,1%); e fabricao de malte,
cervejas e chopes (13,7%). Em 2009, verifcou-se mudana na participao seto-
rial do IDE chins, j que os que obtiveram as maiores participao foram: ban-
cos mltiplos, com carteira comercial (73,2%); comrcio atacadista de defensivos
agrcolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo (4%); e servios combinados
de escritrio e apoio administrativo (4%).
preciso destacar que tanto os dados do fuxo de IDE chins no Brasil
quanto sua participao setorial esto subestimados e com distores. Isso acon-
tece porque as empresas estatais chinesas enviam os recursos para o Brasil a partir
de bases em outros pases. Segundo estimativas da Sociedade Brasileira de Es-
tudos de Empresas Transnacionais e da Globalizao (SOBEET), o IDE chins
no Brasil em 2010 deve ter sido entre US$ 13 bilhes e US$ 17 bilhes. Valores
estes muito acima dos registrados pelo Banco Central. Somente a operao da
Sinopec com a Repsol foi 18 vezes maior do que esse valor, mas os recursos
teriam ingressado via Luxemburgo, pas que oferece generosos benefcios fscais
(LAMUCCI; WATANABE, 2011).
As aquisies chinesas de empresas que operam no Brasil entre 2009 e
2010 cresceram tanto em termos de operaes (de 1 para 5) quanto em termo
de valores (de US$ 0,4 bilho para US$ 14,9 bilhes). Estas aquisies ocor-
reram, sobretudo, no setor de petrleo (US$ 10,17 bilhes) na explorao do
pr-sal brasileiro. Os outros setores de atuao das empresas chinesas foram:
fnanceiro (US$ 1,8 bilho), minerao (US$ 1,22 bilho) e energia eltrica
(US$ 1,72 bilho) (tabela 7). Fica evidente a estratgia chinesa de garantir
o acesso a fontes de recursos naturais, bem como o de tentar infuenciar no
preo desses setores.
334 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
TABELA 7
Aquisies chinesas de empresas que operam no Brasil 2009-2010
Data de
anncio
Empresa-alvo Setor Nome do comprador
Nome do
vendedor
Status da
negociao
Valor anunciado
(US$ bilhes)
19/05/2009
MMX Minerao e
Metlicos S/A
Siderurgia Wuhuan Iron and Steel Completo 0,400
2009 Nmero de negociaes 1 Valor total (US$ bilhes) 0,400
1
o
/10/2010 Repsol YPF Brasil Ptroleo
China Petroleum &
Chemical Corp
Repsol YPF SA Completo 7,100
21/05/2010 Peregrino eld Ptroleo Sinochem Group Statoil ASA Pendente 3,070
06/12/2010 Banco BTG Pactual S/A
Setor
nanceiro
Consrcio internacional
formado pelos Fundos
Soberanos da China
(CIC), de Cingapura
(GIC) e de Abu Dhabi
(ADIC)
BTG
Investments LP
Completo 1,800
16/05/2010 Multiple Targets
Energia
eltrica
China State Grid Corp Multiple sellers Completo 1,721
25/03/2010 Itaminas Iron Ore Mine Minerao
East China Mineral
Exploration &
Development Burea
Pendente 1,220
2010 Nmero de negociaes 5 Valor total (US$ bilhes) 14,911
Fonte: Bloomberg.
Elaborao dos autores.
Os dados de 2010 evidenciam aquisies chinesas no Brasil da ordem de
US$ 14,9 bilhes com algumas negociaes pendentes. Considerando que este
resultado a mdia entre as duas estimativas de infuxo de IDE chins no Brasil
(US$ 13 bilhes e US$ 17 bilhes), optou-se aqui por adotar esse valor (cerca
de US$ 15 bilhes) como a possvel entrada de IDE chins no Brasil, o que
equivale a cerca de 30% do total.
As investidas do capital chins no Brasil no fcaram concentradas apenas
em atividades ligadas explorao de petrleo e siderurgia; na verdade, as em-
presas chinesas atreladas ao agronegcio tm comprado vastas propriedades rurais
agricultveis. O avano chins na compra de minas, reas de explorao de pe-
trleo e de terras para agropecuria (tabelas 6 e 7) vm provocando preocupaes
tanto nos setores empresariais
19
quanto nos governamentais.
Uma dessas questes recentes est associada aquisio de terras por es-
trangeiros, especialmente chineses. Segundo informaes do Instituto Nacional
de Colonizao e Reforma Agrria (Incra), 5,5 milhes de hectares de terras
brasileiras pertencem a no brasileiros; no entanto, estes valores tendem a estar
19. A Confederao Nacional da Indstria (CNI) e a Federao das Indstrias de So Paulo (FIESP), alm de outras
entidades patronais, manifestaram fortes preocupaes com as compras chinesas de terras e de setores de minerao
(LAMUCCI; WATANABE, 2011).
335 China e Brasil: oportunidades e desaos
subestimados em virtude de dados incompletos nos registros dos cartrios e nas
declaraes das empresas estrangeiras. Estimativas no ofciais afrmam que os
chineses j possuem cerca de 7 milhes de hectares.
Para tentar controlar a grande quantidade de terras compradas por es-
trangeiros, o governo federal anunciou recentemente a reviso dos pareceres da
Advocacia Geral da Unio (AGU) de 1994 e 1998, interpretando que mesmo as
empresas brasileiras controladas por estrangeiros no podem adquirir mais
do que 5 mil hectares de terras no territrio brasileiro. Alm disso, as proprie-
dades rurais que tm como donos estrangeiros no podem ser superiores a 25%
da superfcie do municpio. Estas medidas ensejam recuperar a capacidade go-
vernamental de regular e controlar a aquisio de quantidades signifcativas do
territrio nacional por pessoas jurdicas brasileiras, sob controle de estrangeiros,
e por estrangeiros.
Alm desses setores, as empresas chinesas j atuam hoje nos mais diver-
sos ramos no Brasil, desde equipamentos de telecomunicaes, passando por
setor fnanceiro e energia eltrica at automveis. No setor de telecomuni-
caes e computadores, as empresas chinesas Lenovo, ZTE e Huawei esto
produzindo no Brasil, sendo que esta ltima a lder no mercado de banda
larga fxa e mvel. Quanto ao setor de energia eltrica, a China State Grid
Corp comprou sete concessionrias brasileiras de transmisso. No que tange
ao setor fnanceiro, os Fundos Soberanos da China, de Cingapura e de Abu
Dhabi que integram um consrcio internacional de investidores compraram
18,6% do capital do BTG Pactual. Cabe destacar ainda que o Banco de De-
senvolvimento da China (BDC) emprestou US$ 10 bilhes para a Petrleo
Brasileiro S/A (Petrobras), que, em contrapartida, assinou um contrato com
a estatal chinesa Sinopec que garante o fornecimento por dez anos de 150
mil barris/dia no primeiro ano e de 200 mil barris/dia nos anos seguintes.
Mais recentemente, as empresas chinesas de automveis e de motocicletas
tm anunciado a construo de plantas produtivas no Brasil investimento
estimado de aproximadamente US$ 1 bilho (quadro 1).
Alm dos possveis investimentos desse segmento, existe grande quan-
tidade de investimentos programados por empresas chinesas no Brasil nos
prximos trs anos que somam cerca de aproximadamente US$ 20,6 bi-
lhes. Deste total programado, US$ 4,3 bilhes sero destinados ao segmen-
to do agronegcio; US$ 15,4 bilhes aos setores de minerao e siderurgia;
e o restante para os setores de automveis, motocicletas e equipamentos de
construo etc. (quadro 1).
336 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
Q
U
A
D
R
O
1
P
r
e
s
e
n
a
d
e
e
m
p
r
e
s
a
s
c
h
i
n
e
s
a
s
n
o
B
r
a
s
i
l
N
o
m
e
S
e
t
o
r
d
e
a
t
u
a
o
I
n
v
e
s
t
i
m
e
n
t
o
s
(
a
q
u
i
e
s
f
u
s
e
s
)
I
n
v
e
s
t
i
m
e
n
t
o
s
p
r
o
g
r
a
m
a
d
o
s
V
a
l
o
r
(
U
S
$
b
i
l
h
e
s
)
A
n
o
d
e
a
t
u
a
o
D
e
s
c
r
i
o
V
a
l
o
r
(
U
S
$
b
i
l
h
e
s
)
P
e
r
o
d
o
D
e
s
c
r
i
o
C
h
i
n
a
N
a
t
i
o
n
a
l
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
A
g
r
o
n
e
g
c
i
o
0
,
3
0
P
r
x
i
m
o
s
a
n
o
s
C
o
m
p
r
a
d
e
1
0
0
m
i
l
h
e
c
t
a
r
e
s
n
o
O
e
s
t
e
d
a
B
a
h
i
a
,
p
a
r
a
p
r
o
d
u
z
i
r
s
o
j
a
p
a
r
a
o
s
m
e
r
c
a
d
o
s
b
r
a
s
i
l
e
i
r
o
e
c
h
i
n
s
G
r
u
p
o
P
a
l
l
a
s
I
n
t
e
r
n
a
c
i
o
n
a
l
A
g
r
o
n
e
g
c
i
o
2
0
1
0
e
p
r
x
i
m
o
s
a
n
o
s
P
l
a
n
o
s
d
e
c
o
m
p
r
a
r
e
n
t
r
e
2
0
0
e
2
5
0
m
i
l
h
e
c
t
a
r
e
s
n
o
o
e
s
t
e
d
a
B
a
h
i
a
e
n
o
c
o
n
j
u
n
t
o
d
e
r
e
a
s
d
e
C
e
r
r
a
d
o
d
o
M
a
r
a
n
h
o
,
d
o
P
i
a
u
e
d
o
T
o
c
a
n
t
i
n
s
G
r
u
p
o
B
e
i
d
a
h
u
a
n
g
A
g
r
o
n
e
g
c
i
o
P
o
s
s
u
i
p
l
a
n
t
a
e
s
d
e
s
o
j
a
e
m
7
0
0
h
e
c
t
a
r
e
s
n
a
s
r
e
d
o
n
d
e
z
a
s
d
e
P
o
r
t
o
A
l
e
g
r
e
(
R
S
)
e
e
m
c
e
r
c
a
d
e
1
6
m
i
l
h
e
c
t
a
r
e
s
e
m
T
o
c
a
n
t
i
n
s
I
m
p
o
r
t
o
u
e
m
2
0
0
9
c
e
r
c
a
d
e
1
,
5
m
i
l
h
o
d
e
t
o
n
e
l
a
d
a
s
d
e
s
o
j
a
b
r
a
s
i
l
e
i
r
a
e
m
g
r
o
p
e
l
o
s
p
o
r
t
o
s
d
e
P
a
r
a
n
a
g
u
e
d
e
S
a
n
t
o
s
2
0
1
1
e
p
r
x
i
m
o
s
a
n
o
s
I
n
t
e
n
o
d
e
c
o
n
s
t
r
u
i
r
u
m
t
e
r
m
i
n
a
l
p
o
r
t
u
r
i
o
n
o
s
u
l
d
o
p
a
s
o
u
n
o
N
o
r
-
d
e
s
t
e
,
d
e
a
u
m
e
n
t
a
r
a
p
o
s
s
e
d
e
t
e
r
r
a
s
e
d
e
e
x
p
a
n
d
i
r
a
p
r
o
d
u
o
n
o
p
a
s
C
h
o
n
g
Q
i
n
g
G
r
a
i
n
A
g
r
o
n
e
g
c
i
o
4
,
0
0
P
r
x
i
m
o
s
a
n
o
s
C
o
m
p
a
n
h
i
a
c
h
i
n
e
s
a
i
r
c
o
n
s
t
r
u
i
r
e
m
B
a
r
r
e
i
r
a
s
(
B
A
)
u
m
a
u
n
i
d
a
d
e
d
e
e
s
m
a
g
a
m
e
n
t
o
d
e
s
o
j
a
c
a
p
a
c
i
d
a
d
e
a
n
u
a
l
d
e
p
r
o
c
e
s
s
a
m
e
n
t
o
d
e
1
,
5
m
i
l
h
o
d
e
t
o
n
e
l
a
d
a
s
e
u
m
a
f
b
r
i
c
a
d
e
f
e
r
t
i
l
i
z
a
n
t
e
s
W
u
h
u
a
n
I
r
o
n
a
n
d
S
t
e
e
l
(
W
i
s
c
o
)
S
i
d
e
r
u
r
g
i
a
0
,
3
9
9
8
2
0
0
9
A
q
u
i
s
i
o
d
e
a
e
s
d
a
M
M
X
M
i
n
e
r
a
o
e
M
e
t
l
i
c
o
s
S
/
A
d
e
p
r
o
p
r
i
e
d
a
d
e
d
o
e
m
p
r
e
s
r
i
o
E
i
k
e
B
a
t
i
s
t
a
1
1
,
0
0
P
r
x
i
m
o
s
a
n
o
s
A
m
a
i
o
r
p
a
r
t
e
d
o
d
i
n
h
e
i
r
o
s
e
r
d
i
r
e
-
c
i
o
n
a
d
a
p
a
r
a
o
p
r
o
j
e
t
o
s
i
d
e
r
r
g
i
c
o
n
o
P
o
r
t
o
d
o
A
u
,
n
o
l
i
t
o
r
a
l
u
m
i
n
e
n
s
e
E
a
s
t
C
h
i
n
a
M
i
n
e
r
a
l
E
x
p
l
o
r
a
t
i
o
n
&
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
B
u
r
e
a
M
i
n
e
r
a
o
1
,
2
2
0
2
0
1
0
A
q
u
i
s
i
o
d
a
m
i
n
e
r
a
d
o
r
a
I
t
a
m
i
n
a
s
e
d
e
s
u
a
s
m
i
n
a
s
d
e
f
e
r
r
o
r
e
s
e
r
v
a
s
d
e
m
a
i
s
d
e
1
,
3
b
i
l
h
o
d
e
t
o
n
e
l
a
d
a
s
q
u
e
p
r
o
d
u
z
c
e
r
c
a
d
e
3
m
i
l
h
e
s
d
e
t
o
n
e
l
a
d
a
s
p
o
r
a
n
o
,
p
o
d
e
n
d
o
c
h
e
g
a
r
a
2
5
m
t
H
o
n
b
r
i
d
g
e
M
i
n
e
r
a
o
0
,
4
2
0
1
0
V
o
t
o
r
a
n
t
i
m
N
o
v
o
s
N
e
g
c
i
o
s
v
e
n
d
e
u
o
p
r
o
j
e
t
o
d
e
m
i
n
r
i
o
d
e
f
e
r
r
o
S
a
l
i
n
a
s
,
n
o
n
o
r
t
e
d
e
M
i
n
a
s
G
e
r
a
i
s
2
,
4
0
P
r
x
i
m
o
s
a
n
o
s
O
p
r
o
j
e
t
o
i
n
c
l
u
i
a
e
x
p
l
o
r
a
o
d
a
m
i
n
a
,
a
c
o
n
s
t
r
u
o
d
e
u
m
m
i
n
e
r
o
d
u
-
t
o
e
d
e
u
m
a
o
p
e
r
a
o
p
o
r
t
u
r
i
a
(
C
o
n
t
i
n
u
a
)
337 China e Brasil: oportunidades e desaos
N
o
m
e
S
e
t
o
r
d
e
a
t
u
a
o
I
n
v
e
s
t
i
m
e
n
t
o
s
(
a
q
u
i
e
s
f
u
s
e
s
)
I
n
v
e
s
t
i
m
e
n
t
o
s
p
r
o
g
r
a
m
a
d
o
s
V
a
l
o
r
(
U
S
$
b
i
l
h
e
s
)
A
n
o
d
e
a
t
u
a
o
D
e
s
c
r
i
o
V
a
l
o
r
(
U
S
$
b
i
l
h
e
s
)
P
e
r
o
d
o
D
e
s
c
r
i
o
C
h
i
n
a
M
e
t
a
l
l
u
r
g
i
c
a
l
I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
A
u
s
t
r
a
l
i
a
M
i
n
e
r
a
A
d
q
u
i
r
i
u
7
0
%
d
a
B
r
a
s
i
l
N
o
r
d
e
s
t
e
M
i
n
e
r
a
e
s
L
t
d
a
.
,
o
q
u
e
l
h
e
c
o
n
f
e
r
e
a
c
e
s
s
o
s
m
i
n
a
s
d
e
C
a
j
a
z
e
r
i
a
s
(
P
B
)
e
Q
u
i
x
e
r
a
-
m
o
b
i
m
(
C
E
)
q
u
e
p
o
s
s
u
i
r
e
s
e
r
v
a
s
e
s
t
i
m
a
d
a
s
e
m
m
a
i
s
d
e
4
b
i
l
h
e
s
d
e
t
o
n
e
l
a
d
a
s
d
e
m
i
n
r
i
o
2
,
0
0
P
r
x
i
m
o
s
a
n
o
s
R
e
p
r
e
s
e
n
t
a
n
t
e
s
d
a
e
m
p
r
e
s
a
a
r
m
a
-
r
a
m
q
u
e
e
s
t
o
e
m
b
u
s
c
a
d
e
n
o
v
a
s
m
i
n
a
s
e
m
e
n
c
i
o
n
a
r
a
m
q
u
e
g
o
s
t
a
r
i
a
m
d
e
c
o
n
t
a
r
c
o
m
p
o
r
t
o
p
r
p
r
i
o
,
a
l
m
d
a
n
e
c
e
s
s
i
d
a
d
e
d
e
f
e
r
r
o
v
i
a
s
S
i
n
o
c
h
e
m
G
r
o
u
p
P
e
t
r
l
e
o
3
,
0
7
0
2
0
1
0
U
m
a
d
a
s
m
a
i
o
r
e
s
p
e
t
r
o
l
f
e
r
a
s
d
a
C
h
i
n
a
q
u
e
a
d
q
u
i
r
i
u
4
0
%
d
o
c
a
m
p
o
d
e
P
e
r
e
g
r
i
n
o
,
n
a
r
e
a
d
o
p
r
-
s
a
l
,
q
u
e
p
e
r
t
e
n
c
i
a
n
o
r
u
e
g
u
e
s
a
S
t
a
t
o
i
l
C
h
i
n
a
P
e
t
r
o
l
e
u
m
&
C
h
e
m
i
c
a
l
C
o
r
p
P
e
t
r
l
e
o
7
,
1
0
0
2
0
1
0
C
o
m
p
r
a
d
e
4
0
%
d
a
s
o
p
e
r
a
e
s
b
r
a
s
i
l
e
i
r
a
s
d
a
e
s
p
a
n
h
o
l
a
R
e
p
s
o
l
,
c
r
i
a
n
d
o
u
m
a
d
a
s
m
a
i
o
r
e
s
e
m
p
r
e
s
a
s
p
r
i
v
a
d
a
s
d
e
e
n
e
r
g
i
a
d
a
A
m
r
i
c
a
L
a
t
i
n
a
C
h
i
n
a
S
t
a
t
e
G
r
i
d
C
o
r
p
E
n
e
r
g
i
a
e
l
t
r
i
c
a
1
,
7
2
1
2
0
1
0
A
e
m
p
r
e
s
a
,
l
d
e
r
n
a
r
e
a
d
e
e
n
e
r
g
i
a
e
l
t
r
i
c
a
n
a
C
h
i
n
a
,
c
o
m
p
r
o
u
s
e
t
e
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
r
i
a
s
b
r
a
s
i
l
e
i
r
a
s
d
e
t
r
a
n
s
m
i
s
s
o
q
u
e
p
e
r
t
e
n
c
i
a
m
e
s
p
a
n
h
o
l
a
P
l
e
n
a
C
h
i
n
a
P
e
t
r
o
l
e
u
m
&
C
h
e
m
i
c
a
l
C
o
r
p
P
e
t
r
l
e
o
7
,
1
0
0
2
0
1
0
C
o
m
p
r
a
d
e
4
0
%
d
a
s
o
p
e
r
a
e
s
b
r
a
s
i
l
e
i
r
a
s
d
a
e
s
p
a
n
h
o
l
a
R
e
p
s
o
l
,
c
r
i
a
n
d
o
u
m
a
d
a
s
m
a
i
o
r
e
s
e
m
p
r
e
s
a
s
p
r
i
v
a
d
a
s
d
e
e
n
e
r
g
i
a
d
a
A
m
r
i
c
a
L
a
t
i
n
a
C
h
i
n
a
S
t
a
t
e
G
r
i
d
C
o
r
p
E
n
e
r
g
i
a
e
l
t
r
i
c
a
1
,
7
2
1
2
0
1
0
A
e
m
p
r
e
s
a
,
l
d
e
r
n
a
r
e
a
d
e
e
n
e
r
g
i
a
e
l
t
r
i
c
a
n
a
C
h
i
n
a
,
c
o
m
p
r
o
u
s
e
t
e
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
r
i
a
s
b
r
a
s
i
l
e
i
r
a
s
d
e
t
r
a
n
s
m
i
s
s
o
q
u
e
p
e
r
t
e
n
c
i
a
m
e
s
p
a
n
h
o
l
a
P
l
e
n
a
C
o
n
s
r
c
i
o
i
n
t
e
r
n
a
c
i
o
n
a
l
f
o
r
m
a
d
o
p
e
l
o
s
F
u
n
d
o
s
S
o
b
e
r
a
n
o
s
d
a
C
h
i
n
a
(
C
I
C
)
,
d
e
C
i
n
g
a
p
u
r
a
(
G
I
C
)
e
d
e
A
b
u
D
h
a
b
i
(
A
D
I
C
)
S
e
t
o
r
f
i
n
a
n
-
c
e
i
r
o
1
,
8
0
0
2
0
1
0
A
q
u
i
s
i
o
d
e
p
a
r
t
i
c
i
p
a
o
d
e
1
8
,
6
%
d
o
c
a
p
i
t
a
l
d
o
B
T
G
P
a
c
t
u
a
l
(
C
o
n
t
i
n
u
a
o
)
(
C
o
n
t
i
n
u
a
)
338 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
N
o
m
e
S
e
t
o
r
d
e
a
t
u
a
o
I
n
v
e
s
t
i
m
e
n
t
o
s
(
a
q
u
i
e
s
f
u
s
e
s
)
I
n
v
e
s
t
i
m
e
n
t
o
s
p
r
o
g
r
a
m
a
d
o
s
V
a
l
o
r
(
U
S
$
b
i
l
h
e
s
)
A
n
o
d
e
a
t
u
a
o
D
e
s
c
r
i
o
V
a
l
o
r
(
U
S
$
b
i
l
h
e
s
)
P
e
r
o
d
o
D
e
s
c
r
i
o
B
a
n
c
o
d
e
D
e
s
e
n
v
o
l
-
v
i
m
e
n
t
o
d
a
C
h
i
n
a
(
B
D
C
)
S
e
t
o
r
n
a
n
-
c
e
i
r
o
E
m
p
r
e
s
t
o
u
U
S
$
1
0
b
i
l
h
e
s
P
e
t
r
o
b
r
a
s
.
E
m
t
r
o
c
a
,
a
e
s
t
a
-
t
a
l
a
s
s
i
n
o
u
u
m
c
o
n
t
r
a
t
o
d
e
f
o
r
n
e
c
i
m
e
n
t
o
d
e
p
e
t
r
l
e
o
p
o
r
d
e
z
a
n
o
s
c
o
m
a
e
s
t
a
t
a
l
c
h
i
n
e
s
a
S
i
n
o
p
e
c
(
1
5
0
m
i
l
b
a
r
r
i
s
/
d
i
a
n
o
p
r
i
m
e
i
r
o
a
n
o
d
e
2
0
0
m
i
l
b
a
r
r
i
s
n
o
p
e
r
o
d
o
)
C
h
e
r
y
A
u
t
o
m
v
e
i
s
0
,
7
0
P
r
x
i
m
o
s
3
a
n
o
s
M
a
i
o
r
m
o
n
t
a
d
o
r
a
c
h
i
n
e
s
a
d
e
a
u
t
o
m
v
e
i
s
e
s
t
a
b
e
l
e
c
e
r
u
m
a
f
b
r
i
c
a
n
o
B
r
a
s
i
l
(
J
a
c
a
r
e
/
S
P
)
p
a
r
a
p
r
o
d
u
z
i
r
i
n
i
c
i
a
l
m
e
n
t
e
5
0
m
i
l
c
a
r
r
o
s
a
o
a
n
o
,
c
o
m
c
a
p
a
c
i
d
a
d
e
p
r
o
d
u
t
i
v
a
d
e
1
5
0
m
i
l
v
e
c
u
l
o
s
H
a
i
m
a
A
u
t
o
m
v
e
i
s
M
a
r
c
a
c
h
i
n
e
s
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
d
a
p
e
l
o
g
r
u
p
o
D
i
s
t
r
i
c
a
r
i
n
i
c
i
a
i
m
p
o
r
t
a
o
e
m
2
0
1
1
0
,
2
0
P
r
x
i
m
o
s
2
a
n
o
s
A
m
o
n
t
a
d
o
r
a
t
e
m
p
l
a
n
o
s
d
e
i
n
i
c
i
a
r
m
o
n
t
a
g
e
m
d
e
u
m
s
e
d
e
u
m
u
t
i
l
i
t
r
i
o
e
m
2
0
1
3
.
N
a
p
r
i
m
e
i
r
a
f
a
s
e
p
r
e
v
-
-
s
e
p
r
o
d
u
o
d
e
3
0
m
i
l
a
5
0
m
i
l
u
n
i
d
a
d
e
s
a
n
u
a
i
s
S
a
n
y
H
e
a
v
y
I
n
d
u
s
t
r
i
e
s
E
q
u
i
p
.
d
e
c
o
n
s
t
r
u
0
,
1
0
P
r
x
i
m
o
s
a
n
o
s
C
o
n
s
t
r
u
o
u
m
a
f
b
r
i
c
a
d
e
g
u
i
n
d
a
s
-
t
e
s
e
e
s
c
a
v
a
d
e
i
r
a
s
n
o
i
n
t
e
r
i
o
r
p
a
u
l
i
s
t
a
H
u
a
w
e
i
E
q
u
i
p
.
d
e
t
e
l
e
c
o
m
.
1
9
9
9
S
e
g
u
n
d
o
m
a
i
o
r
f
a
b
r
i
c
a
n
t
e
m
u
n
d
i
a
l
d
e
e
q
u
i
p
a
m
e
n
t
o
s
p
a
r
a
r
e
d
e
s
m
v
e
i
s
.
N
o
B
r
a
s
i
l
a
e
m
p
r
e
s
a
l
d
e
r
n
o
m
e
r
c
a
d
o
d
e
b
a
n
d
a
l
a
r
g
a
x
a
e
m
v
e
l
,
e
d
e
t
m
7
0
%
d
o
m
e
r
c
a
d
o
n
a
c
i
o
n
a
l
d
e
m
o
d
e
m
s
U
S
B
d
e
a
c
e
s
s
o
3
G
E
m
2
0
0
8
,
o
f
a
t
u
r
a
m
e
n
t
o
d
a
H
u
a
w
e
i
n
o
B
r
a
s
i
l
a
t
i
n
g
i
u
U
S
$
1
b
i
l
h
o
,
n
u
m
a
c
r
e
s
c
e
n
t
e
e
x
p
a
n
s
o
d
e
c
o
n
t
r
a
t
o
s
e
a
m
p
l
i
a
o
d
o
t
r
a
b
a
l
h
o
d
e
p
e
s
q
u
i
s
a
e
d
e
s
e
n
v
o
l
v
i
m
e
n
t
o
Z
T
E
E
q
u
i
p
.
d
e
t
e
l
e
c
o
m
.
A
Z
T
E
d
o
B
r
a
s
i
l
t
e
m
h
o
j
e
s
u
a
m
a
t
r
i
z
e
r
e
a
f
a
b
r
i
l
e
m
S
o
P
a
u
l
o
e
m
T
a
m
b
o
r
m
a
s
t
a
m
b
m
p
o
s
s
u
i
e
s
c
r
i
t
r
i
o
s
n
o
R
i
o
d
e
J
a
n
e
i
r
o
e
B
r
a
s
l
i
a
(
C
o
n
t
i
n
u
a
o
)
(
C
o
n
t
i
n
u
a
)
339 China e Brasil: oportunidades e desaos
N
o
m
e
S
e
t
o
r
d
e
a
t
u
a
o
I
n
v
e
s
t
i
m
e
n
t
o
s
(
a
q
u
i
e
s
f
u
s
e
s
)
I
n
v
e
s
t
i
m
e
n
t
o
s
p
r
o
g
r
a
m
a
d
o
s
V
a
l
o
r
(
U
S
$
b
i
l
h
e
s
)
A
n
o
d
e
a
t
u
a
o
D
e
s
c
r
i
o
V
a
l
o
r
(
U
S
$
b
i
l
h
e
s
)
P
e
r
o
d
o
D
e
s
c
r
i
o
Z
o
n
g
s
h
e
n
M
o
t
o
c
i
c
l
e
t
a
s
P
r
x
i
m
o
s
a
n
o
s
E
m
j
a
n
e
i
r
o
d
e
2
0
1
1
f
o
i
d
i
v
u
l
g
a
d
o
q
u
e
a
e
m
p
r
e
s
a
e
s
t
c
o
n
s
t
r
u
o
d
e
c
e
n
t
r
o
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
e
m
M
a
n
a
u
s
q
u
e
v
a
i
a
b
r
i
g
a
r
u
m
a
n
o
v
a
f
b
r
i
c
a
d
e
m
o
t
o
c
i
c
l
e
t
a
s
c
a
p
a
c
i
d
a
d
e
p
a
r
a
1
8
0
m
i
l
q
u
e
o
p
e
r
a
r
e
m
s
i
s
t
e
m
a
m
o
d
u
l
a
r
.
T
r
s
e
m
p
r
e
s
a
s
d
a
C
h
i
n
a
j
c
o
n
r
m
a
r
a
m
u
n
i
d
a
d
e
s
p
a
r
a
p
r
o
d
u
z
i
r
c
h
a
s
s
i
s
,
a
s
s
e
n
t
o
s
e
p
e
a
s
p
l
s
t
i
c
a
s
L
e
n
o
v
o
C
o
m
p
u
t
a
d
o
r
F
o
r
m
a
d
a
p
e
l
a
a
q
u
i
s
i
o
d
a
a
n
t
i
g
a
I
B
M
P
e
r
s
o
n
a
l
c
o
m
p
u
-
t
i
n
g
D
i
v
i
s
i
o
n
T
o
t
a
l
1
5
,
7
T
o
t
a
l
2
0
,
7
F
o
n
t
e
:
F
o
l
h
a
d
e
S
.
P
a
u
l
o
,
V
a
l
o
r
E
c
o
n
m
i
c
o
e
B
l
o
o
m
b
e
r
g
.
E
l
a
b
o
r
a
o
d
o
s
a
u
t
o
r
e
s
.
(
C
o
n
t
i
n
u
a
o
)
340 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
4.3 Presena brasileira na China e alguns elementos do quadro regulatrio chins
De acordo com o Banco Central do Brasil, entre 2006 e 2010, o fuxo de inves-
timento direto estrangeiro brasileiro total cresceu 32% (de US$ 22,225 bilhes
para US$ 29,311 bilhes). Esse crescimento foi ainda maior quando se com-
para o perodo compreendido entre 2009 e 2010, com expanso de 274% (de
US$ 7,831 bilhes para US$ 29,311 bilhes). O fuxo de IDE brasileiro para a
China apresentou tendncia diferente da observada pelo fuxo para o mundo,
j que, entre 2006 e 2010, o IDE decresceu em 31% (de US$ 13 milhes para
US$ 9 milhes). Entre 2009 e 2010, observou-se crescimento de 200%, menor
do que a do IDE brasileiro para o mundo (tabela 8).
TABELA 8
Fluxo de IDE brasileiro (mundo e China) e participao 2006-2010
(Em US$ milhes)
Ano Total China %
2006 22.225 13,0 0,06
2007 11.645 14,0 0,12
2008 17.310 15,0 0,09
2009 7.831 3,0 0,04
2010 29.311 9,0 0,03
Fonte: BCB.
Elaborao dos autores.
A queda do fuxo de IDE brasileiro para a China, pelos dados ofciais do
Banco Central do Brasil, reduziu ainda mais a pequena participao da China
como mercado receptor de IDE brasileiro entre 2006 e 2010 (de 0,06% para
0,03%). A China em 2009 foi o 30
o
principal pas receptor de IDE brasileiro,
posio esta que se manteve estvel em 2010 (tabela 8).
Esse pequeno volume de fuxo de IDE brasileiro direcionado China,
em parte, fruto da pequena quantidade de empresas brasileiras capazes de se
internacionalizar, bem como das restries e das difculdades para a entrada de
empresas estrangeiras em alguns setores do mercado chins. Essas difculdades
esto atreladas forte regulao obrigatoriedade de operao com parcerias
locais e, at mesmo, restrio absoluta da entrada de IDE em setores con-
siderados estratgicos e de segurana nacional pelo governo chins. O instru-
mento que normatiza o investimento estrangeiro na China o Foreign-invested
Industry Guidance Catalogue, que foi revisado em 2007, cujas principais diretri-
zes esto evidenciadas no box 1 a seguir.
341 China e Brasil: oportunidades e desaos
BOX 1
Principais restries setoriais da poltica de IDE na China
So encorajados:
1. Investimentos em novas tecnologias agrcolas, abrangendo desenvolvimento da agricul-
tura, e a estrutura de fontes de energia, comunicaes e indstrias de materiais importantes.
2. Tecnologias novas ou avanadas que possam melhorar a qualidade dos produtos, con-
servar energia e matria-prima, elevar a ecincia tecnolgica e econmica das empresas,
ou que possam fabricar produtos para aliviar a escassez destes nos mercados domsticos.
3. Projetos que satisfazem as necessidades do mercado internacional, elevam o grau de
qualidade dos produtos, abrem novos mercados, ou expandem e aumentam as exportaes.
4. Investimentos relacionados a um abrangente uso de recursos renovveis e novas tecno-
logias e equipamentos para proteo do meio ambiente.
5. Investimentos que possam dar plena atividade para as vantagens do trabalho e os recur-
sos naturais nas regies central e ocidental.
So permitidos:
1. Investimentos diretos estrangeiros que no pertencem s categorias encorajadas, restri-
tas e proibidas.
So restringidos:
1. Projetos que tenham sido desenvolvidos internamente, projetos cuja tecnologia tenha sido
importada e projetos cuja capacidade de produo possa satisfazer a demanda domstica.
2. Comrcios nos quais o Estado ainda est experimentando a utilizao de investimentos
estrangeiros em setores onde o monoplio estatal ainda existe.
3. Projetos envolvendo a prospeco e a explorao de recursos minerais raros e valiosos.
4. Comrcios que necessitam estar sob os planos gerais do Estado.
5. Outros projetos restringidos por leis estatais e regulaes administrativas.
So proibidos:
1. Projetos que arriscam a segurana do Estado ou prejudicam interesses pblicos e sociais.
2. Projetos que poluem e danicam o meio ambiente, dessorem recursos naturais ou preju-
dicam a sade da populao.
3. Projetos que esgotem largas reas de terras para cultivo, que no sejam bencas para
a proteo e o desenvolvimento dos recursos do solo, ou que arrisquem a segurana e o
efetivo uso de facilidades militares.
4. Projetos que fabriquem produtos utilizando tecnologia ou arte industrial chinesa.
5. Outros projetos proibidos por leis estatais e regulaes administrativas.
Elaborao dos autores.
Alm dessa regulamentao, mais recentemente o governo chins tem
ampliado essas restries ao IDE. Em 2008, o governo da China criou uma
lei antimonoplio que estabelece que as frmas estrangeiras devero provar que
sua entrada no mercado chins no se confgura como ameaa segurana
nacional. Em 2001, o Conselho de Estado da China divulgou uma circular
342 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
modifcando o processo de fuses e de aquisies realizadas pelas empresas
estrangeiras, levando em conta o conceito de segurana nacional de forma
bastante ampla. O conceito est defnido:
II. Reviso do conceito de segurana para o processo de fuses e aquisies:
1. efeitos de fuses e aquisies sobre a segurana nacional, que inclui a capaci-
dade produtiva dos produtos nacionais (servios, equipamentos e instalales)
voltados defesa nacional;
2. impactos de fuses e aquisio sobre o crescimento contnuo da economia nacional;
3. efeitos de fuses e aquisies na ordem da vida social bsica; e
4. impactos de fuses e aquisies sobre a capacidade de P&D de setores tecnol-
gicos chave para a segurana nacional.
20
Na dcada de 2000, sobretudo na segunda metade, grandes empresas
brasileiras Gerdau, Sadia, Marcopolo, Empresa Brasileira de Aeronutica
(Embraer), Votorantin, Weg etc. tm tentado ingressar no mercado chins
sem xito. A Marcopolo, por exemplo, abandonou seu projeto de produzir
nibus na China este segmento requeria um scio local que a empresa no
encontrou e resolveu construir uma fbrica de componentes que no precisa
de scio local; pelo contrrio, o investimento nesse segmento estimulado
pelo governo. O caso da Embraer emblemtico desse processo. A partir de
2002, essa empresa confgurou uma joint venture com a empresa chinesa AVIC
II e passou a produzir o ERJ-145 de 50 lugares na China. Contudo, a Embraer
no consegue uma licena do governo chins para produzir um avio maior
capacidade para 120 passageiros. A licena tem sido negada em virtude do
desenvolvimento desse tipo de avio pela indstria domstica (quadro 2).
Os casos exemplifcados no quadro 2 evidenciam que, em setores com restri-
es ao IDE, as empresas brasileiras tm encontrado difculdades de se inserir
no mercado chins, notadamente no que diz respeito s parcerias locais.
20. II. The content of security review of merger and acquisition
1) the effect of merger and acquisition on the national security, including the productive capacity of domestic
products for the national defense, domestic service providing capacity and related equipment and facilities;
2) the effect of merger and acquisition on the national steady economic growth;
3) the effect of merger and acquisition on the basic social living order; and
4) the effect of merger and acquisition on the R&D capacity of key technologies involving the national security.
(GENERAL OFFICE OF THE STATE COUNCIL, 2011, p. 2).
343 China e Brasil: oportunidades e desaos
Q
U
A
D
R
O
2
P
r
e
s
e
n
a
d
e
e
m
p
r
e
s
a
s
b
r
a
s
i
l
e
i
r
a
s
n
a
C
h
i
n
a
N
o
m
e
S
e
t
o
r
d
e
a
t
u
a
o
D
e
s
c
r
i
o
E
m
b
r
a
e
r
A
v
i
a
o
A
E
m
b
r
a
e
r
,
p
o
r
m
e
i
o
d
e
u
m
a
j
o
i
n
t
-
v
e
n
t
u
r
e
c
o
m
a
e
m
p
r
e
s
a
c
h
i
n
e
s
a
A
V
I
C
I
I
,
p
a
s
s
o
u
a
p
r
o
d
u
z
i
r
n
a
C
h
i
n
a
o
E
R
J
-
1
4
5
,
d
e
5
0
l
u
g
a
r
e
s
.
A
e
m
p
r
e
s
a
v
e
m
t
e
n
t
a
n
d
o
s
e
m
x
i
t
o
u
m
a
l
i
c
e
n
a
d
o
g
o
v
e
r
n
o
p
a
r
a
p
r
o
d
u
z
i
r
u
m
a
v
i
o
m
a
i
o
r
c
a
p
a
c
i
d
a
d
e
p
a
r
a
1
2
0
p
a
s
s
a
g
e
i
r
o
s
.
A
C
h
i
n
a
e
s
t
d
e
s
e
n
v
o
l
v
e
n
d
o
e
s
s
e
t
i
p
o
d
e
a
v
i
o
o
q
u
e
t
e
m
d
i
c
u
l
t
a
d
o
a
l
i
c
e
n
a
.
A
E
m
b
r
a
e
r
a
m
e
a
a
f
e
c
h
a
r
e
s
s
a
u
n
i
d
a
d
e
c
a
s
o
n
o
h
a
j
a
u
m
a
c
o
r
d
o
c
o
m
o
s
c
h
i
n
e
s
e
s
W
E
G
M
o
t
o
r
e
s
e
l
t
r
i
c
o
s
A
e
m
p
r
e
s
a
c
a
t
a
r
i
n
e
n
s
e
f
a
b
r
i
c
a
n
t
e
d
e
m
o
t
o
r
e
s
e
l
t
r
i
c
o
s
p
o
s
s
u
i
p
l
a
n
t
a
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
n
a
C
h
i
n
a
d
e
s
d
e
2
0
0
4
.
O
n
e
g
c
i
o
n
o
c
o
n
s
e
g
u
i
u
d
e
c
o
l
a
r
c
o
m
o
p
l
a
n
e
j
a
d
o
.
M
a
i
s
r
e
c
e
n
t
e
m
e
n
t
e
,
e
s
s
a
e
m
p
r
e
s
a
e
s
t
a
p
o
s
t
a
n
d
o
n
a
e
x
p
a
n
s
o
p
a
r
a
a
n
d
i
a
p
a
r
a
q
u
e
v
i
a
b
i
l
i
z
e
a
s
u
a
e
x
p
a
n
s
o
p
a
r
a
a
s
i
a
G
e
r
d
a
u
A
o
O
g
r
u
p
o
t
e
n
t
a
,
h
a
n
o
s
,
a
d
q
u
i
r
i
r
u
m
a
f
b
r
i
c
a
d
e
a
o
s
e
s
p
e
c
i
a
i
s
n
a
C
h
i
n
a
.
A
s
m
u
l
t
i
n
a
c
i
o
n
a
i
s
d
o
s
e
t
o
r
s
i
d
e
r
r
g
i
c
o
s
o
o
b
r
i
g
a
d
a
s
a
c
o
m
p
r
a
r
u
m
a
p
a
r
t
i
c
i
p
a
o
m
i
n
o
r
i
t
r
i
a
n
u
m
a
e
m
p
r
e
s
a
l
o
c
a
l
,
e
a
G
e
r
d
a
u
e
s
t
e
n
c
o
n
t
r
a
n
d
o
d
i
c
u
l
d
a
d
e
e
m
e
n
c
o
n
t
r
a
r
u
m
a
f
b
r
i
c
a
a
d
e
q
u
a
d
a
p
a
r
a
a
p
a
r
c
e
r
i
a
M
a
r
c
o
p
o
l
o
n
i
b
u
s
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
e
s
A
M
a
r
c
o
p
o
l
o
a
b
a
n
d
o
n
o
u
o
s
e
u
p
r
o
j
e
t
o
d
e
p
r
o
d
u
z
i
r
n
i
b
u
s
n
a
C
h
i
n
a
e
s
t
e
s
e
g
m
e
n
t
o
r
e
q
u
e
r
i
a
u
m
s
c
i
o
l
o
c
a
l
q
u
e
a
e
m
p
r
e
s
a
n
o
e
n
c
o
n
t
r
o
u
e
r
e
s
o
l
v
e
u
c
o
n
s
t
r
u
i
r
u
m
a
f
b
r
i
c
a
d
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
e
s
q
u
e
n
o
p
r
e
c
i
s
a
d
e
s
c
i
o
l
o
c
a
l
,
p
e
l
o
c
o
n
t
r
r
i
o
o
i
n
v
e
s
t
i
m
e
n
t
o
n
e
s
s
e
s
e
g
m
e
n
t
o
e
s
t
i
m
u
l
a
d
o
p
e
l
o
g
o
v
e
r
n
o
S
a
d
i
a
A
g
r
o
n
e
g
c
i
o
A
e
m
p
r
e
s
a
c
o
n
t
r
a
t
o
u
u
m
a
c
o
n
s
u
l
t
o
r
i
a
p
a
r
a
i
d
e
n
t
i
c
a
r
c
o
n
t
a
t
o
s
q
u
e
p
o
s
s
a
m
a
j
u
d
a
r
e
m
s
e
u
f
u
t
u
r
o
n
e
g
c
i
o
n
a
C
h
i
n
a
.
J
a
n
a
l
i
s
o
u
d
i
v
e
r
s
a
s
e
m
p
r
e
s
a
s
e
m
s
u
a
b
u
s
c
a
p
o
r
u
m
s
c
i
o
,
m
a
s
n
o
e
n
c
o
n
t
r
o
u
u
m
a
q
u
e
s
e
a
d
q
u
a
s
s
u
a
s
e
x
p
e
c
t
a
t
i
v
a
s
V
o
t
o
r
a
n
t
i
m
C
i
m
e
n
t
o
s
C
i
m
e
n
t
o
A
V
o
t
o
r
a
n
t
i
m
C
i
m
e
n
t
o
s
p
r
e
t
e
n
d
e
p
r
o
d
u
z
i
r
p
a
r
a
a
i
n
d
s
t
r
i
a
d
e
c
o
n
s
t
r
u
o
c
i
v
i
l
e
e
s
t
p
r
o
c
u
r
a
n
d
o
u
m
p
a
r
c
e
i
r
o
l
o
c
a
l
M
a
x
i
o
n
R
o
d
a
s
r
o
d
o
v
i
r
i
a
s
A
e
m
p
r
e
s
a
i
n
s
t
a
l
o
u
u
m
a
f
b
r
i
c
a
d
e
r
o
d
a
s
r
o
d
o
v
i
r
i
a
s
n
a
C
h
i
n
a
e
m
2
0
0
8
,
e
p
r
e
t
e
n
d
e
u
s
a
r
o
p
a
s
c
o
m
o
b
a
s
e
d
e
e
x
p
o
r
t
a
o
.
A
i
n
t
e
n
o
e
r
a
a
t
i
n
g
i
r
a
c
a
p
a
c
i
d
a
d
e
d
e
p
r
o
d
u
o
d
e
1
,
8
m
i
l
h
o
d
e
r
o
d
a
s
p
o
r
a
n
o
F
r
a
s
-
l
e
P
a
s
t
i
l
h
a
s
e
l
o
n
a
d
e
f
r
e
i
o
F
r
a
s
-
l
e
A
s
i
a
f
o
i
i
n
a
u
g
u
r
a
d
a
o
c
i
a
l
m
e
n
t
e
n
o
d
i
a
1
5
d
e
j
u
l
h
o
d
e
2
0
1
0
,
m
a
r
c
a
n
d
o
,
t
a
m
b
m
,
o
i
n
c
i
o
d
a
p
r
o
d
u
o
l
o
c
a
l
d
e
p
a
s
t
i
l
h
a
s
p
a
r
a
f
r
e
i
o
s
p
a
r
a
v
e
c
u
l
o
s
c
o
m
e
r
c
i
a
i
s
,
a
l
m
d
a
s
l
o
n
a
s
j
p
r
o
d
u
z
i
d
a
s
E
m
b
r
a
c
o
1
C
o
m
p
r
e
s
s
o
r
e
s
E
s
t
a
b
e
l
e
c
e
u
u
m
a
j
o
i
n
t
v
e
n
t
u
r
e
n
a
C
h
i
n
a
e
m
1
9
9
5
.
E
m
2
0
0
6
,
f
o
i
i
n
i
c
i
a
d
a
a
t
r
a
n
s
f
e
r
n
c
i
a
d
e
e
m
p
r
e
s
a
p
a
r
a
n
o
v
a
s
i
n
s
t
a
l
a
e
s
,
n
u
m
a
z
o
n
a
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
.
E
s
t
a
n
o
v
a
f
b
r
i
c
a
,
q
u
e
p
a
s
s
o
u
a
a
b
r
i
g
a
r
u
m
c
e
n
t
r
o
d
e
P
&
D
,
f
o
i
i
n
a
u
g
u
r
a
d
a
j
p
r
o
d
u
z
i
n
d
o
u
m
n
o
v
o
m
o
d
e
l
o
d
e
c
o
m
p
r
e
s
s
o
r
F
o
n
t
e
:
F
o
l
h
a
d
e
S
.
P
a
u
l
o
,
V
a
l
o
r
E
c
o
n
m
i
c
o
e
B
l
o
o
m
b
e
r
g
.
E
l
a
b
o
r
a
o
d
o
s
a
u
t
o
r
e
s
.
N
o
t
a
:
1
E
m
2
0
0
6
,
a
E
m
b
r
a
c
o
f
o
i
c
o
m
p
r
a
d
a
p
e
l
a
W
h
i
r
l
p
o
o
l
C
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
,
q
u
e
a
m
a
i
o
r
f
a
b
r
i
c
a
n
t
e
m
u
n
d
i
a
l
d
e
e
l
e
c
t
r
o
d
o
m
s
t
i
c
o
s
.
A
c
o
m
p
a
n
h
i
a
d
e
t
e
n
t
o
r
a
d
e
d
i
v
e
r
s
a
s
m
a
r
c
a
s
,
c
o
m
o
W
h
i
r
l
p
o
o
l
,
C
o
n
s
u
l
,
M
a
y
t
a
g
,
K
i
t
c
h
e
n
A
i
d
,
B
r
a
s
t
e
m
p
,
B
a
u
k
n
e
c
h
t
,
e
n
t
r
e
o
u
t
r
a
s
.
A
s
e
d
e
d
a
c
o
r
p
o
r
a
o
l
o
c
a
l
i
z
a
-
s
e
n
o
s
E
s
t
a
d
o
s
U
n
i
d
o
s
e
s
u
a
s
u
b
s
i
d
i
r
i
a
b
r
a
s
i
l
e
i
r
a
a
W
h
i
r
l
p
o
o
l
S
/
A
.
344 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
5 OPORTUNIDADES E DESAFIOS PARA O BRASIL: ABRIR MO DO FUTURO EM
NOME DO PRESENTE PODE SER MUITO PERIGOSO
A ampliao das relaes comerciais, fnanceiras especialmente IDE e produ-
tivas entre China e Brasil vem se confgurando em um momento de signifcativas
transformaes internacionais mudanas na diviso internacional do trabalho,
nos fuxos comerciais e fnanceiros e nas arenas polticas internacionais , que al-
teram o status de determinados Estados nacionais na hierarquia do sistema mun-
dial, com o retorno ou a emergncia de atores nos espaos de disputa econmica
e poltica global, tais como o Brasil, a Rssia, a ndia e, notadamente, a China.
Na verdade, boa parte dessas modifcaes decorre da ascenso chinesa em um
contexto marcado pela elevada concentrao do poder econmico e poltico
dos Estados Unidos.
A ampliao das relaes econmicas e polticas entre Brasil e China est se
confgurando em um cenrio contraditrio a partir de uma totalidade fortemente
complexa. Essa dinmica traz consigo oportunidades para o Brasil no curto e m-
dio prazo, mas que, se no forem bem aproveitadas, podero representar ameaas,
sobretudo no longo prazo, como a perda de participao das exportaes brasilei-
ras em terceiros mercados para a China, desadensamento da estrutura produtiva
nacional e perda do controle estratgico sobre fontes de energia (petrleo) e de
recursos naturais (terras e minas), alm do aumento da vulnerabilidade externa
estrutural. No so poucos os desafos que esto postos para a construo de uma
relao de benefcio mtuo entre o Brasil e a China.
Na governana global, possvel explorar a necessidade de construo de
uma nova ordem internacional pautada por multilateralidade e reformas de insti-
tuies multilaterais (FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvol-
vimento BID, OMC e ONU) e das institucionalidades fnanceiras dos organis-
mos internacionais (G-20 fnanceiro, Basel Committee on Banking Supervision
e Financial Stability Board), inclusive com o apoio da China para que o Brasil
assuma assento permanente no Conselho de Segurana da ONU e maior coor-
denao comercial no mbito da OMC. Contrariamente, a ascenso econmica
e poltica da China pode aprofundar a assimetria cada vez maior de suas relaes
com o Brasil, podendo gerar divergncias entre as estratgias de atuao desses
pases nos espaos polticos internacionais.
Na questo monetrio-fnanceira, o estabelecimento de maiores la-
os entre instituies chinesas e brasileiras, como os bancos de desenvolvi-
mento (Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social BNDES
e Agriculture Development Bank of China, China Development Bank e
Export-Import Bank of China) e as empresas brasileiras e os grandes bancos
chineses, poderia representar elevao do uso do funding chins para garantir a
345 China e Brasil: oportunidades e desaos
expanso do investimento brasileiro. Isso benefciaria, sobretudo, os setores de
infraestrutura de transporte e de mobilidade urbana. No entanto, a utilizao do
funding (emprstimos) e do IDE chins pode elevar o passivo externo brasileiro,
aumentando a vulnerabilidade externa do pas no mdio e no longo prazo.
No comrcio e nos investimentos, observam-se alguns elementos dinamiza-
dores das relaes bilaterais: de um lado, a expanso das exportaes brasileiras
destinadas China, em virtude do papel que desempenha como importante for-
necedor de alimentos, petrleo e matrias-primas indispensveis manuteno
do crescimento chins, contribui para o supervit comercial brasileiro; de outro,
o investimento direto estrangeiro chins pode signifcar o aporte de capital e tec-
nologia nos segmentos de infraestrutura ajudando na viabilizao dos grandes
projetos do Programa de Acelerao do Crescimento (PAC), da Copa do Mundo
2014 e das Olimpadas de 2006 , de siderurgia, da cadeia do petrleo e de min-
rio, auxiliando na expanso produtiva desses segmentos.
No que se refere ao investimento direto estrangeiro brasileiro na China,
preciso buscar ampliao da presena das empresas brasileiras no territrio chins.
Isso pode, ademais, contribuir para reduzir as vulnerabilidades externas de ambos
os pases. No entanto, os desafos esto em diminuir as assimetrias existentes nas
polticas de atrao de IDE desses pases, refetidas em seus quadros regulatrios.
O Brasil um pas mais aberto ao IDE que a China, e o princpio da isonomia no
tratamento dos investimentos mtuos condio fundamental para o aumento
da sinergia e de outros ganhos entre ambos os pases.
A concorrncia entre a estrutura produtiva chinesa e a brasileira pode, no
entanto, afetar esse dinamismo do comrcio e dos investimentos. A ampliao da
corrente do comrcio entre a China e o Brasil veio acompanhada de presso com-
petitiva das manufaturas chinesas sobre o parque industrial brasileiro. O efeito
China tem gerado: i) especializao regressiva da pauta exportadora entendida
como o aumento da participao relativa dos produtos bsicos para a exportao;
ii) signifcativo dfcit comercial para o Brasil no caso dos produtos de mais alta
intensidade tecnolgica; e iii) perda na participao das exportaes brasileiras de
maior intensidade tecnolgica em terceiros mercados (Europa, Estados Unidos e
Amrica Latina)
21
em virtude da expanso das exportaes chinesas.
A presso competitiva das manufaturas chinesas tende a gerar um pro-
cesso de especializao regressiva da estrutura industrial (desadensamento da
cadeia produtiva domstica) e a forte expanso do IDE chins no Brasil fora
21. Os dados preliminares da pesquisa conduzida por Lia Valls, professora da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (UERJ)/Fundao Getulio Vargas (FGV) e bolsista do Programa de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional
(PNPD) na Dinte/Ipea, apontam para a perda de participao das exportaes brasileiras em terceiros mercados para
as exportaes chinesas.
346 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
das prioridades da poltica industrial e sem uma negociao quanto forma
de acesso ao mercado (joint ventures, alianas tecnolgicas etc.) pode signifcar
a perda do controle estratgico soberano do Brasil sobre as fontes de energia
(petrleo) e de recursos naturais (terras e minas), sem que isso signifque maior
transferncia de tecnologia para o pas.
Na inovao tecnolgica, um dos grandes desafos postos para o desenvol-
vimento brasileiro aumentar a difuso tecnolgica por sua cadeia produtiva.
A questo como a China, que tem realizado rpido catching up tecnolgico,
pode ser parceiro fundamental para o Brasil nesse ponto. Se, por um lado, o
Brasil pode contribuir com o avano tecnolgico da China no campo do pe-
trleo, da energia, dos minrios e dos alimentos; por outro lado, o ltimo pode
contribuir com o primeiro no mbito da indstria intensiva em tecnologia, da
indstria aeroespacial
22
e da mudana do paradigma energtico para a energia
limpa energia solar, elica, nuclear etc. A China o maior exportador de pro-
dutos intensivos em tecnologia para o mundo, bem como o maior produtor de
equipamentos para produo de energia elica, por exemplo.
Se no forem superados esses obstculos e se desperdiadas as oportunida-
des, a vulnerabilidade externa estrutural a especializao regressiva da pauta ex-
portadora e da estrutura industrial brasileira tende a agravar-se como fenmeno
de longo prazo e, segundo Gonalves et al. (2009), aprofundar as assimetrias no
padro de comrcio, na efcincia do aparelho produtivo, na dinmica tecnolgi-
ca e na solidez do sistema fnanceiro nacional. Essa situao est associada ao fato
de que a irradiao do progresso tcnico fcar restrita aos setores exportadores
sobretudo os grupos econmicos industriais produtores de commodities.
Essas ameaas evidenciam o tamanho dos desafios que o governo bra-
sileiro ter de enfrentar para transformar as potencialidades do contexto
mundial, bem como da ampliao da cooperao entre Brasil e China, para
resolver os gargalos (ameaas) de mdio e de longo prazo, configurando um
processo de desenvolvimento sustentvel. Antes de apresentar as possveis es-
tratgias do governo brasileiro para ampliao da cooperao com o governo
chins, faz-se necessrio destacar que a estrutura organizacional fragmenta-
da do atual Estado brasileiro no permite a compreenso em profundidade
do efeito China para o mundo e, sobretudo, para o Brasil. Na verdade,
preciso criar com urgncia um grupo de trabalho interministerial para diag-
nosticar os impactos do efeito China sobre o Brasil, bem como pensar es-
tratgias comerciais, financeiras, produtivas (setoriais) e polticas. A questo
22. O acordo de cooperao no setor aeroespacial sino-brasileiro para o desenvolvimento em conjunto de dois sat-
lites de observao da Terra (Satlite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres CBERS) permitiu ao Brasil ingressar no
pequeno grupo de pases que detm satlites prprios de sensoriamento remoto (MORAES, 2010, p. 1). Sua expanso
bem como a criao de novos acordos nesse segmento podero gerar ganhos tecnolgicos para o Brasil.
347 China e Brasil: oportunidades e desaos
que esse grupo de trabalho no pode ser apenas um somatrio dos setoriais
(ministrios e rgo), pois a compreenso dos impactos para o Brasil desse
novo fenmeno (China), bem como as possveis estratgias brasileiras, re-
quer ao mesmo tempo pensar eixos gerais (preos macroeconmicos juros
e cmbio , poltica industrial, defesa comercial, poltica tecnolgica e fontes
de financiamento de longo prazo) e especficos (setor a setor, produto a pro-
duto, desde instrumentos de defesa comercial, de regulamentao de IDE,
at a transferncia tecnologia etc.).
As possveis estratgias disponveis ao governo brasileiro para enfrentar os
desafos da ampliao das relaes com a China so:
1. Utilizar mais ativamente os instrumentos disponveis de defesa co-
mercial no mbito da OMC (antindumping, medidas compensatrias
e salvaguardas).
2. Negociar com o governo chins o estabelecimento de condies ison-
micas para entrada de operao das empresas brasileiras na China.
3. Avanar nos instrumentos de regulamentao, regulao e fscalizao
da compra de terras e de recursos naturais pelos chineses, adequando
esses investimentos s estratgias de desenvolvimento e de insero in-
ternacional da economia brasileira.
4. Criar instrumentos de regulamentao e regulao do IDE em funo
das prioridades da poltica industrial:
a) para os segmentos do agronegcio, do minrio e ao e do petrleo,
preciso desenvolver instrumentos para que se busque agregar valor na
cadeia de produo no territrio nacional. As empresas chinesas que
operam no Brasil no segmento do agronegcio, por exemplo, no po-
dem exportar apenas soja em gros, mas devem contribuir para a expor-
tao dos produtos industrializados dessa cadeia produtiva; e
b) para a manufatura (automveis, eletroeletrnica, motocicletas e equipa-
mentos), faz-se necessrio requerer maior contedo local (frmas brasi-
leiras) na produo de peas e componentes, sob o risco de se promo-
ver um tipo de fragmentao da produo que no traz externalidades
positivas sobre outros setores/atividades e mesmo sobre a articulao
produtiva das regies brasileiras.
5. Confgurar instrumentos institucionais que possibilitem uma gesto da
poltica cambial e monetria adequada a uma viso de longo prazo
promoo das exportaes e controle das importaes , embora con-
sidere tambm as particularidades oriundas do curto prazo infao.
348 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
Alm disso, preciso aumentar o crescimento com estabilidade de
preos, endurecendo a crtica e os instrumentos de defesa contra os
efeitos deletrios da guerra cambial entre China e Estados Unidos
desvalorizao do dlar em relao s outras moedas, com a exceo
chinesa que adota estratgia reativa de atrelamento de sua moeda ao
dlar. Esse processo provoca abundncia de dlares no mercado mun-
dial aumento de liquidez que se destinam, especialmente, aos pases
emergentes. Isso provoca valorizaes das moedas locais, difcultando a
competitividade de suas exportaes.
6. Aprofundar a industrializao brasileira por meio da ampliao das fon-
tes de fnanciamento de setores estratgicos para o desenvolvimento de
atividades indutoras de mudanas e de difuso da inovao tecnolgica.
7. Ampliar a cooperao tecnolgica com a China no campo aeroespacial
e na rea de energia limpa, criando projetos especfcos que permitam
a transferncia de tecnologia chinesa assim como realizado pelo projeto
CBERS desenvolvimento de satlites de observao da Terra.
8. Criar mecanismos que acelerem a complementaridade produtiva e in-
tegrao da infraestrutura sul-americana e aprofundem as instituies
regionais, especialmente o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a
Unio das Naes Sul-Americanas (Unasul). Assim como fez a pol-
tica chinesa com o Leste Asitico, a integrao produtiva deve estar
associada a mecanismos garantidores da presena brasileira no sub-
continente com aumentos de produtividade e reduo das assimetrias
entre os pases.
O plano de ao conjunta 2010-2014 entre Brasil e China, assinado em
2009 pelo presidente Hu Jintao e pelo ex-presidente Luiz Incio Lula da Silva,
que tem reunies previstas para 2011, deve-se constituir em um espao de
negociaes comerciais e de investimento com a China, buscando orientar as
polticas nas diversas reas do relacionamento. O problema do avano des-
sas negociaes agora que os chineses sabem claramente o que querem do
Brasil em termos gerais e especfcos; no entanto, ainda no se tem claro o
que queremos da China. Apenas negociaes pontuais no bastam; preciso
avanar com urgncia nas defnies de estratgias amplas e especfcas, pois a
mo que afaga (emprstimos, IDE e supervit comercial) pode ser aquela que
direciona os vnculos externos da economia brasileira para uma dinmica em-
pobrecedora que fcar visvel apenas no mdio ou no longo prazo. Portanto,
abrir mo do futuro em nome do presente (exportaes de commodities) pode
ser muito perigoso.
349 China e Brasil: oportunidades e desaos
REFERNCIAS
ACIOLY, L.; LEO, R. Internacionalizao das empresas da China. Braslia:
Ipea, 2011. Mimeografado.
DIEGUEZ, F. Subelevao na sia. Retrato do Brasil, n. 42, p. 34-38, jan.
2010.
DUMBAUGH, K.; SULLIVAN, M. Chinas Growing Interest in Latin Ame-
rica. Congressional Research Service (CRS), Report for Congress, Washington,
DC, Apr. 2005.
ENGLAND, V. Why are South China Sea tensions rising? BBC News,
Bangkok, 3 Sept. 2010. Disponvel em: <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-
-pacifc-11152948>. Acesso em: 4 abr. 2011.
FIORI, L. O sistema interestatal capitalista no incio do sculo XXI. In: FIORI,
J.; MEDEIROS, C.; SERRANO, F. (Org.). O mito do colapso do poder ame-
ricano. Rio de Janeiro: Record, 2008.
FOLHA DE S.PAULO. Vrios nmeros.
FUNDO MONETRIO INTERNACIONAL (FMI). World Economic
Outlook Database, out. 2010.
GENERAL OFFICE OF THE STATE COUNCIL. Circular of the General
Office of the State Council on the Establishment of Security Review
System Regarding Merger and Acquisition of Domestic Enterprises by
Foreign Investors. Guo Ban Fa, n. 6, Feb. 3 2011. Disponvel em: <http://
www.fdi.gov.cn/pub/FDI_EN/Laws/GeneralLawsandRegulations/Ministe-
rialRulings/P020110222352839068480.pdf>.
GONALVES, R. et al. Vulnerabilidad Estructural Externa en Amrica Latina.
In: ARCEO, E.; BASUALDO, E. (Org.). Los Condicionantes de la crisis en
Amrica Latina: insercin internacional y modalidades de acumulacin. Buenos
Aires: CLACSO, 2009, v. 1, p. 119-138.
HOLLAND, M.; BARBI, F. China na Amrica Latina: uma anlise da perspecti-
va dos investimentos diretos estrangeiros. In: BAUMANN, R. (Org.). O Brasil e
os demais BRICs: comrcio e poltica. Braslia: Cepal/Ipea, 2010.
JAIBAO, W. Report on the work of the government. Delivered at the fourth
session of the eleventh do National Peoples Congress on March 5, 2011. Dispo-
nvel em: <http: www.china.org.cn>.
LAMUCCI, S.; WATANABE, M. Investimento chins no Brasil j vai alm das
commodities. Valor Econmico, p. A.16, 18 fev. 2011.
350 A China na Nova Congurao Global: impactos polticos e econmicos
MEDEIROS, C. Desenvolvimento econmico e ascenso nacional: rupturas e
transies na Rssia e na China. In: FIORI, J.; MEDEIROS, C.; SERRANO, F.
(Org.). O mito do colapso do poder americano. Rio de Janeiro: Record, 2008.
MORAIS, R. A cooperao espacial sino-brasileira. Desafos do Desenvolvi-
mento. Braslia, Ipea, ano 8, n. 60, abr./maio de 2010.
NOGUEIRA, I. Desenvolvimento econmico, distribuio de renda e pobre-
za na china contempornea. 2011. Tese (Doutorado em Economia) Instituto
de Economia da UFRJ, Rio de Janeiro, 2011.
NONNEMBERG, M. Exportaes e inovaes: uma anlise para Amrica
Latina e Sul-Sudeste Asitico. Rio de Janeiro: Ipea, 2011 (Texto para Discusso,
n. 1579).
ORGANIZAO PARA COOPERAO E DESENVOLVIMENTO ECO-
NMICO (OCDE). Investment Policy Reviews: China. Paris, 2008.
PINTO, E. Bloco no poder e governo Lula: grupos econmicos, poltica eco-
nmica e novo eixo sino-americano. 2010. Tese (Doutorado em Economia).
Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,
2010a.
______. O eixo sino-americano e a insero externa brasileira: antes e depois da
crise. In: ACIOLY, L.; CINTRA, M. (Org.). Insero internacional brasileira.
Braslia: Ipea/Dient, 2010b. v. 2.
ROSEN, D.; HANEMANN, T. Chinas changing outbound foreign direct
investment profle: drivers and policy implication. Washington, DC: Peterson
Institute of International Economics, 2009 (Policy Brief 09-14).
THORSTENSEN, V. Perfl da poltica e instrumentos de comrcio interna-
cional dos BICs: China, ndia e Brasil. Braslia: Ipea, mar. 2011. (Nota Tcnica
Projeto regulao do comrcio Global). No prelo.
VALOR ECONMICO. Vrios nmeros.
ZWEIG, D.; JIANHAI, B. Chinas Global Hunt for Energy. Foreign Afairs,
New York, v. 84, n. 5, p. 25-38, Sept./Oct. 2005.
NOTAS BIOGRFICAS
Alexandre de Freitas Barbosa
Professor de Histria Econmica do Instituto de Estudos Brasileiros da Universi-
dade de So Paulo (IEB/USP) e doutor em Economia Aplicada pelo Instituto de
Economia da Universidade Estadual de Campinas (IE/UNICAMP).
E-mail: afbarbosa@usp.br
Aline Regina Alves Martins
Doutoranda em Cincia Poltica pelo Instituto de Filosofia e Cincias
Humanas da Universidade Estadual de Campinas (IFCH/UNICAMP) e
pesquisadora-bolsista do Programa de Pesquisa para o Desenvolvimento
Nacional (PNPD) na Diretoria de Estudos e Relaes Econmicas e Polti-
cas Internacionais (Dinte) do Ipea.
E-mail: aline.martins2@ipea.gov.br
Diego Pautasso
Doutor e mestre em Cincia Poltica e graduado em Geografa pela Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Atualmente professor de Relaes
Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM).
E-mail: dpautasso@espm.br
Eduardo Costa Pinto
Tcnico de Planejamento e Pesquisa da Diretoria de Estudos e Relaes Eco-
nmicas e Polticas Internacionais (Dinte) do Ipea. Doutor em Economia pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e mestre em Economia pela Uni-
versidade Federal da Bahia (UFBA). Foi professor de Economia da Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).
E-mail: eduardo.pinto@ipea.gov.br
Francis Owusu
Professor e diretor de graduao do Departamento de Planejamento Regional
(Doge) da Universidade de Iowa, Estados Unidos. Doutor em Geografa pela
Universidade de Minnesota, Estados Unidos.
E-mail: fowusu@iastate.edu
352 A China na Nova Congurao Global: impactos poltico e econmicos
Luciana Acioly
Tcnica de Planejamento e Pesquisa e assessora-chefe da Assessoria Tcnica da
Presidncia do Ipea (Astec). Doutora em Economia pelo Instituto de Economia
da Universidade Estadual de Campinas (IE/UNICAMP).
E-mail: luciana.acioly@ipea.gov.br
Marcos Antonio Macedo Cintra
Tcnico de Planejamento e Pesquisa e diretor da Diretoria de Estudos e Relaes
Econmicas e Polticas Internacionais (Dinte) do Ipea. Doutor em Economia pelo
Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas (IE/UNICAMP).
E-mail: marcos.cintra@ipea.gov.br
Padraig Carmody
Professor de Geografa Humana do Departamento de Geografa, da Trinity
College da Universidade de Dublin, Irlanda. Doutor em Geografa pela Uni-
versidade de Minnesota, Estados Unidos.
E-mail: fowusu@iastate.edu
Rodrigo Pimentel Ferreira Leo
Mestre em Desenvolvimento Econmico pelo Instituto de Economia da Uni-
versidade Estadual de Campinas (IE/UNICAMP) e pesquisador-bolsista do
Programa de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional (PNPD) na Diretoria
de Estudos e Relaes Econmicas e Polticas Internacionais (Dinte) do Ipea.
E-mail: rodrigo.leao@ipea.gov.br
Sandra Poncet
Professora de Economia da Universidade Paris 1, Panthon Sorbone, e pesquisadora
do Centro de Estudos e Investigao em Economia Internacional da Frana (CEPII).
Doutora em Economia pela Universidade de Clermont-Ferrand 1, Frana.
E-mail: sandra.poncet@univ-paris1.fr
William Vella Nozaki
Doutorando em Desenvolvimento Econmico pelo Instituto de Economia da
Universidade Estadual de Campinas (IE/UNICAMP) e pesquisador-bolsista do
Programa de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional (PNPD) na Diretoria de
Estudos e Relaes Econmicas e Polticas Internacionais (Dinte) do Ipea.
E-mail: william.nozaki@gmail.com
Ipea Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada
Editorial
Coordenao
Cludio Passos de Oliveira
Njobs Comunicao
Superviso
Cida Taboza
Fbio Oki
Inara Vieira
Thayse Lamera
Reviso
ngela de Oliveira
Cristiana de Sousa da Silva
Lizandra Deusdar Felipe
Regina Marta de Aguiar
Editorao
Anderson Reis
Danilo Leite
Larita Ara
Capa
Andrey Tomimatsu
Livraria
SBS Quadra 1 Bloco J Ed. BNDES, Trreo
70076-900 Braslia DF
Tel.: (61) 3315 5336
Correio eletrnico: livraria@ipea.gov.br
Você também pode gostar
- Breve História Da ChinaDocumento312 páginasBreve História Da ChinaWaldenei D100% (1)
- Brasil, Uma Economia Que Não Aprende Novas Perspectivas para Entender Nosso Fracasso (André Roncaglia, Paulo Gala Etc.)Documento242 páginasBrasil, Uma Economia Que Não Aprende Novas Perspectivas para Entender Nosso Fracasso (André Roncaglia, Paulo Gala Etc.)Ricardo OliveiraAinda não há avaliações
- A expansão econômica e geopolítica da China no século XXINo EverandA expansão econômica e geopolítica da China no século XXIEditora PUC MinasAinda não há avaliações
- A Economia Política Do Desenvolvimento - Paul Baran-CompactadoDocumento196 páginasA Economia Política Do Desenvolvimento - Paul Baran-CompactadoMauro R. A. Jansen88% (8)
- Demétrio Magnoli - Globalização - Estado Nacional e Espaço MundialDocumento50 páginasDemétrio Magnoli - Globalização - Estado Nacional e Espaço MundialAlef Williams LimaAinda não há avaliações
- Livro Russia No Seculo XXIDocumento214 páginasLivro Russia No Seculo XXIRaphael Duarte Silva Silveira100% (2)
- O Estado No Século XXI PDFDocumento402 páginasO Estado No Século XXI PDFhlcarvalho100% (3)
- Livro China HojeDocumento460 páginasLivro China Hojepabloluck8100% (1)
- China Contemporânea Seis Interpretações (Etc.)Documento163 páginasChina Contemporânea Seis Interpretações (Etc.)Marcelo SoaresAinda não há avaliações
- China Socialismo e DesenvolvimentoDocumento246 páginasChina Socialismo e DesenvolvimentoKeka Costa100% (6)
- A Revolucao Chinesa PDFDocumento98 páginasA Revolucao Chinesa PDFhugosuppo@mac.comAinda não há avaliações
- Paz e Guerra Entre As NaçõesDocumento1.216 páginasPaz e Guerra Entre As Naçõesheloisahelenadefariasrosa100% (2)
- Democracia: Um Programa Autodidático de AprendizagemDocumento253 páginasDemocracia: Um Programa Autodidático de AprendizagemMel Bleil GalloAinda não há avaliações
- Como Fazer Análise de Conjuntura - Claudia Santiago e Reginaldo Carmello de MoraesDocumento66 páginasComo Fazer Análise de Conjuntura - Claudia Santiago e Reginaldo Carmello de MoraesSociologiadeCombateAinda não há avaliações
- Audaciosas Ações de Otto Skorzeny - o Capitão Que Resgatou MussoliniDocumento574 páginasAudaciosas Ações de Otto Skorzeny - o Capitão Que Resgatou MussoliniDiogo100% (4)
- 1212 Formacao Da Diplomacia Economica No Brasil VOL1Documento516 páginas1212 Formacao Da Diplomacia Economica No Brasil VOL1Mário CerqueiraAinda não há avaliações
- Celso Furtado, DesenvolvimentoDocumento275 páginasCelso Furtado, DesenvolvimentoMiski Urma100% (2)
- A Atualidade de StalinDocumento207 páginasA Atualidade de StalinEder José da VeigaAinda não há avaliações
- Politiica 2Documento179 páginasPolitiica 2Fabricio Rafael100% (1)
- Os Descobrimentos e A Economia Mundial Vol. I (Vitorino Magalhães Godinho) (Z-Library)Documento317 páginasOs Descobrimentos e A Economia Mundial Vol. I (Vitorino Magalhães Godinho) (Z-Library)Victor JoseAinda não há avaliações
- Frederico II - O Anti-MaquiavelDocumento208 páginasFrederico II - O Anti-MaquiavelTiago Pinheiro100% (2)
- HEINSFELD, Adelar. A Trajetória Do Pensamento Geopolítico - 2020Documento370 páginasHEINSFELD, Adelar. A Trajetória Do Pensamento Geopolítico - 2020Eduarda MangoniAinda não há avaliações
- Fundamentos Da Geopolitica Classica Mahan Mackinder Spykman OsDocumento583 páginasFundamentos Da Geopolitica Classica Mahan Mackinder Spykman OsJuan Retana Jimenez100% (1)
- Ho Chi Minh Vida e Obra Do Líder Da Libertação Nacional Do Vietnã by Ho Chi Minh Pedro de Oliveira (Organizador)Documento284 páginasHo Chi Minh Vida e Obra Do Líder Da Libertação Nacional Do Vietnã by Ho Chi Minh Pedro de Oliveira (Organizador)renato tavares100% (1)
- Geopolítica Do Mundo MultipolarDocumento226 páginasGeopolítica Do Mundo MultipolarThallesCastellaniAinda não há avaliações
- FURTADO, Celso. Brasil - A Construção Interrompida PDFDocumento42 páginasFURTADO, Celso. Brasil - A Construção Interrompida PDFGuto Almudin0% (1)
- FERREIRA Julia & DELGADO Lucília. O Brasil Republicano. Vol. 1Documento236 páginasFERREIRA Julia & DELGADO Lucília. O Brasil Republicano. Vol. 1Quequefoi100% (1)
- Análise de Brzezinski Sobre A RússiaDocumento250 páginasAnálise de Brzezinski Sobre A RússiaAnonymous 8zlMz9ZHAinda não há avaliações
- Duque: Adriana Barreto de SouzaDocumento314 páginasDuque: Adriana Barreto de SouzaDeixa que Eu ChutoAinda não há avaliações
- Hitler Conquista A União Soviética - Origens Do Imperialismo Nazista (SCHNEIDER, Samuel) PDFDocumento222 páginasHitler Conquista A União Soviética - Origens Do Imperialismo Nazista (SCHNEIDER, Samuel) PDFThiago Ferreira100% (1)
- Economia Politica InternacionalDocumento165 páginasEconomia Politica Internacionaldayvallely100% (3)
- Formação Do Mundo Contemporâneo O Século Estilhaçado (Maurício Parada)Documento104 páginasFormação Do Mundo Contemporâneo O Século Estilhaçado (Maurício Parada)Pedro CarlosAinda não há avaliações
- Por Que As Nações Fracassam - Daron Acemoglu Et AlDocumento495 páginasPor Que As Nações Fracassam - Daron Acemoglu Et AlFabiane100% (1)
- 1557156188ebook OficialDocumento35 páginas1557156188ebook OficialSamuel Barcelona100% (1)
- A GeopoliticaDocumento372 páginasA Geopoliticaerick-maciel100% (1)
- Brasil Nao Aprende Versao PDF 1Documento228 páginasBrasil Nao Aprende Versao PDF 1Daniel Santiago100% (2)
- Geopolítica e A Nova Ordem MundialDocumento6 páginasGeopolítica e A Nova Ordem MundialMaghaAinda não há avaliações
- ARON, Raymond. Paz e Guerra Entre As NaçõesDocumento932 páginasARON, Raymond. Paz e Guerra Entre As NaçõesVictor Carneiro Corrêa VieiraAinda não há avaliações
- Perspectivas Geopolíticas - Ricardo Luigi & Charles PennaforteDocumento195 páginasPerspectivas Geopolíticas - Ricardo Luigi & Charles PennaforteLuigi LugAinda não há avaliações
- A Margem Do Abismo - Wanderley Guilherme Dos SantosDocumento115 páginasA Margem Do Abismo - Wanderley Guilherme Dos SantosJuAinda não há avaliações
- Fontes, Virgínia. O Brasil e o Capital-ImperialismoDocumento388 páginasFontes, Virgínia. O Brasil e o Capital-ImperialismoAdriano Nascimento100% (2)
- O Banco Mundial como ator político, financeiro e intelectualNo EverandO Banco Mundial como ator político, financeiro e intelectualAinda não há avaliações
- O Abc Da Integração Europeia: Das Origens Aos Desafios ContemporâneosNo EverandO Abc Da Integração Europeia: Das Origens Aos Desafios ContemporâneosAinda não há avaliações
- A crise permanente: O poder crescente da oligarquia financeira e o fracasso da democraciaNo EverandA crise permanente: O poder crescente da oligarquia financeira e o fracasso da democraciaAinda não há avaliações
- Como vai o Brasil?: A economia brasileira no terceiro milênioNo EverandComo vai o Brasil?: A economia brasileira no terceiro milênioNota: 3.5 de 5 estrelas3.5/5 (2)
- Poder e comércio: A política comercial dos Estados UnidosNo EverandPoder e comércio: A política comercial dos Estados UnidosAinda não há avaliações
- Geopolítica E Relações Internacionais: Agendas De Segurança E DefesaNo EverandGeopolítica E Relações Internacionais: Agendas De Segurança E DefesaAinda não há avaliações
- Livros Brancos de Defesa: Realidade ou Ficção?No EverandLivros Brancos de Defesa: Realidade ou Ficção?Ainda não há avaliações
- Miséria Da Diplomacia: A Destruição Da Inteligência No ItamaratyNo EverandMiséria Da Diplomacia: A Destruição Da Inteligência No ItamaratyAinda não há avaliações
- Livro GovernancaglobalDocumento320 páginasLivro Governancaglobalfabio21cappellanoAinda não há avaliações
- Desenvolvimento DependenciaDocumento240 páginasDesenvolvimento Dependenciaanibalferreira_53100% (1)
- Comercio Exterior ChinêsDocumento47 páginasComercio Exterior ChinêsJaqueline Morais100% (1)
- Almeida Filho, N. Desenvolvimento e DependenciaDocumento240 páginasAlmeida Filho, N. Desenvolvimento e DependenciakostabenjaminAinda não há avaliações
- Economia e Sociedade Internacional 1Documento90 páginasEconomia e Sociedade Internacional 1Gustavo SilvaAinda não há avaliações
- Bepi 31Documento148 páginasBepi 31Heitor HumbertoAinda não há avaliações
- Economia, poder e influência externa: O Banco Mundial e os anos de ajuste na América LatinaNo EverandEconomia, poder e influência externa: O Banco Mundial e os anos de ajuste na América LatinaAinda não há avaliações
- A Ascensão Da China e Seus Reflexos No BrasilDocumento24 páginasA Ascensão Da China e Seus Reflexos No BrasilLaércio CardosoAinda não há avaliações
- Trabalho Final Do 1º Semestre - Camila CostaDocumento13 páginasTrabalho Final Do 1º Semestre - Camila Costacamila costaAinda não há avaliações
- Politicas Publicas e Financiamento Federal Do SUSDocumento360 páginasPoliticas Publicas e Financiamento Federal Do SUSAntonio de Padua GarciaAinda não há avaliações
- A Política Externa Do Brasil - Celso Amorim PDFDocumento80 páginasA Política Externa Do Brasil - Celso Amorim PDFdiegocavalcante7Ainda não há avaliações
- Da Revolucao Ao ReatamentoDocumento376 páginasDa Revolucao Ao ReatamentoAntonio de Padua GarciaAinda não há avaliações
- A Herança Africana No Brasil e No CaribeDocumento328 páginasA Herança Africana No Brasil e No CaribeLuis MolinariAinda não há avaliações
- RussiaDocumento298 páginasRussiaanibalferreira_53Ainda não há avaliações
- Hidrovia Paraguai ParanaDocumento438 páginasHidrovia Paraguai ParanaAntonio de Padua GarciaAinda não há avaliações
- Viagens No MulticulturalismoDocumento256 páginasViagens No MulticulturalismoAntonio de Padua Garcia100% (1)
- A Cabanagem Tese Maria JoseDocumento185 páginasA Cabanagem Tese Maria JoseAntonio de Padua GarciaAinda não há avaliações
- San Tiago Dantas - Coletanea de Textos Sobre Politica ExternaDocumento320 páginasSan Tiago Dantas - Coletanea de Textos Sobre Politica ExternaAntonio de Padua GarciaAinda não há avaliações
- Federalismo e Políticas Educacionais Na Efetivação Do Direito À Educação No BrasilDocumento230 páginasFederalismo e Políticas Educacionais Na Efetivação Do Direito À Educação No BrasilJemima BarreiraAinda não há avaliações
- Tratado de PetrópolisDocumento326 páginasTratado de PetrópolisAntonio de Padua GarciaAinda não há avaliações
- A Cultura ImportaDocumento2 páginasA Cultura ImportaÁlvaro RochaAinda não há avaliações
- Cópia Conhecimento Seekers Oficina - É # Unofficial Tradução Português (Douglas) .Documento26 páginasCópia Conhecimento Seekers Oficina - É # Unofficial Tradução Português (Douglas) .cstenigma enigmaticoAinda não há avaliações
- Tese - Rodrigo Luiz Medeiros Da SilvaDocumento538 páginasTese - Rodrigo Luiz Medeiros Da SilvaRodrigo Luiz Medeiros SilvaAinda não há avaliações
- A Sutil Arte de Ligar o F - Da-Se - Mark MansonDocumento4 páginasA Sutil Arte de Ligar o F - Da-Se - Mark MansonKarmel FeitosaAinda não há avaliações
- Relatos de Viagem Na Idade Média o Maravilhoso No Relatório de Odorico de PordenoneDocumento24 páginasRelatos de Viagem Na Idade Média o Maravilhoso No Relatório de Odorico de PordenoneJorge Luiz VoloskiAinda não há avaliações
- Africa, Russia e AsiaDocumento36 páginasAfrica, Russia e Asianicolau zednikAinda não há avaliações
- Joao Bernardo - Cereais e Estado PDFDocumento15 páginasJoao Bernardo - Cereais e Estado PDFcmtmbbAinda não há avaliações
- Teste Localização Absoluta RelativaDocumento3 páginasTeste Localização Absoluta RelativaAndreia Soares FechaAinda não há avaliações
- Linguística em Foco: Estudos Reunidos Sobre Linguística, Análise Do Discurso e Ensino de Línguas. 2022Documento248 páginasLinguística em Foco: Estudos Reunidos Sobre Linguística, Análise Do Discurso e Ensino de Línguas. 2022LuciaRottava0% (1)
- O Continente EuropeuDocumento27 páginasO Continente EuropeuJNetoPlaysAinda não há avaliações
- Noturno ProporçãoDocumento10 páginasNoturno ProporçãoFrancine NumerAinda não há avaliações
- Bambu No Brasil e No Mundo 56403Documento45 páginasBambu No Brasil e No Mundo 56403Gustavo AyresAinda não há avaliações
- Angola'in - Edição Nº 08Documento132 páginasAngola'in - Edição Nº 08Angola'in100% (2)
- AS PRINCIPAIS LIMITAÇÕES DA HISTORIOGRAFIA AFRICANA Um Olhar Sobre A História MoçambicanaDocumento19 páginasAS PRINCIPAIS LIMITAÇÕES DA HISTORIOGRAFIA AFRICANA Um Olhar Sobre A História MoçambicanaCoroa FernandesAinda não há avaliações
- Soluções Dos Testes-Tipo IntermédiosDocumento2 páginasSoluções Dos Testes-Tipo Intermédios_Dave_Strider_0% (1)
- Plantio e Morfologia de Bambu - BambuDocumento14 páginasPlantio e Morfologia de Bambu - BambuJean Carlos ZmyslonyAinda não há avaliações
- Matemática, História, Geografia e Inglês (4) - Páginas-12-19Documento8 páginasMatemática, História, Geografia e Inglês (4) - Páginas-12-19Fernanda CostaAinda não há avaliações
- Exercicios ChinaDocumento2 páginasExercicios ChinaBruno Delvequio ZequinAinda não há avaliações
- Competitividade Setor AgrícolaDocumento24 páginasCompetitividade Setor AgrícolaRicardo de Queiroz MachadoAinda não há avaliações
- Iimperialismo Aula ProfessorDocumento14 páginasIimperialismo Aula ProfessorRousenGodinhoAinda não há avaliações
- Aula 17 - Eurásia - Parte 2Documento20 páginasAula 17 - Eurásia - Parte 2Francisca Costa e muito bom eu amo músicasAinda não há avaliações
- Efeito Da Aplicação de Diatomite Vs Adubação Mineral (NPK) No Controlo Da Mosca Branca Bemisia Tabaci L. Genn. (Homoptera: Aleyrodidae) Na Cultura de Pepino (Cucumis Sativus L.), No Vale Do UmbelúziDocumento73 páginasEfeito Da Aplicação de Diatomite Vs Adubação Mineral (NPK) No Controlo Da Mosca Branca Bemisia Tabaci L. Genn. (Homoptera: Aleyrodidae) Na Cultura de Pepino (Cucumis Sativus L.), No Vale Do UmbelúziMavisAinda não há avaliações
- Cefet 2002Documento16 páginasCefet 2002nelson de oliveiraAinda não há avaliações
- Geografia 9º Ano Atividade 18Documento3 páginasGeografia 9º Ano Atividade 18Angel cfsAinda não há avaliações
- Prova Vunesp 2017Documento28 páginasProva Vunesp 2017Felipe M. Macconi0% (1)
- Crescimento Económico e Desenvolvimento Humano - Resumos de Geografia 9 AnoDocumento2 páginasCrescimento Económico e Desenvolvimento Humano - Resumos de Geografia 9 AnoInes MoreiraAinda não há avaliações
- Nona Atividade de Historia 901 e 902 2 biDsAbcd1dDocumento3 páginasNona Atividade de Historia 901 e 902 2 biDsAbcd1dJúlia MotaAinda não há avaliações
- A Ilha Do Crocodilo - Curso de Extensao UniversitariaDocumento2 páginasA Ilha Do Crocodilo - Curso de Extensao UniversitariaDaniel De LuccaAinda não há avaliações
- KRUGMAN. O Mito Do Milagre AsiáticoDocumento4 páginasKRUGMAN. O Mito Do Milagre Asiáticolorena_oliveira_3Ainda não há avaliações
- O Império HolandêsDocumento10 páginasO Império HolandêsMafalda PereiraAinda não há avaliações