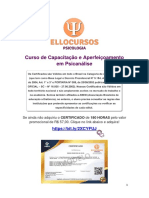Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Imp 29 Art 02
Imp 29 Art 02
Enviado por
huugTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Imp 29 Art 02
Imp 29 Art 02
Enviado por
huugDireitos autorais:
Formatos disponíveis
im pu lso n 29 23
A PRODUO DE
SENTIDOS EM
PERSPECTIVA
PS-MODERNA
*
1
The Production of Meanings:
a postmodernist perspective
Resumo Este artigo traz um estudo sobre como so produzidos os efeitos de sentido,
conforme a perspectiva terica que coloca em questo o sujeito centrado da moder-
nidade atravs de uma perspectiva mais caracterstica da ps-modernidade, que visa a
um sujeito descentrado, incompleto, singular. A nfase aqui orienta-se sobretudo por
aspectos do pensamento de Michel Pcheux, importante representante da escola fran-
cesa de anlise de discurso. Apontam-se tambm outros pensadores seguidores dessa
linha de pensamento. Assim, em um primeiro momento caracterizado o objeto de
estudo, o objetivo fundamental da anlise de discurso. Em seguida, so indagadas as
categorias de sujeito, efeitos de sentido e interpretao, sem perder de vista o sujeito
enquanto posio a ser preenchida. Por m, apresento sucintamente algumas ques-
tes cruciais para que se possa pensar a anlise de discurso como uma possibilidade de
reetir sobre a produo de sentidos enquanto proposta terica que supera o mbito
especco dos lingistas, tornando-se um outro referencial com base no qual pos-
svel criar novos signicados.
Palavras-chave PS-MODERNIDADE ANLISE DE DISCURSO SUJEITO EFEITOS
DE SENTIDO INTERPRETAO.
Abstract This paper presents a study on how meaning effects are produced in a the-
oretical perspective that questions the centered subject of modernity through a pers-
pective closer to postmodernism that considers a non-centered, incomplete, singular
subject. In this study, the emphasis is placed mainly on aspects of Michel Pcheuxs
thought, an important representative of the French School of Discourse Analysis.
Other followers of this line of thought are also mentioned. In rst place, the object
of study was characterized: the main objective of Discourse Analysis; then, other
subject categories, meaning effects and interpretation were examined without losing
sight of the subject as a position to be completed. Finally, some crucial points under
discussion are briey presented so that one can think of Discourse Analysis as a pos-
sibility of thinking about production of meanings as a theoretical proposition that
surpasses the specic area of linguists, becoming another reference from which is
possible to create new meanings.
Keywords POSTMODERNISM DISCOURSE ANALYSIS SUBJECT MEANING
EFFECTS INTERPRETATION.
1
Artigo resultado de tese de doutorado subvencionada pela Capes (1997-ago./2000).
GLADYS B. MORALES
Mestra e doutora em educao
pela Universidade Nacional de
Ro Cuarto (Argentina), onde
professora de francs e
portugus. Pesquisadora na rea
de compreenso de textos de
especialidade em portugus
gmorales@hum.unrc.edu.ar
*
p g y p
24 im pu lso n 29
INTRODUO
debate modernidade/ps-modernidade alcana diversas
reas de saber, como a losoa da linguagem, a esttica,
a arquitetura e os estudos culturais, mas o que interessa
nessa comunicao refere-se anlise de discurso da
chamada escola de orientao francesa: campo que se
ocupa do estudo do discurso, isto , da produo de
sentidos.
Antes de abordar o especco dessa comunicao, en-
tendo como necessrio situar o leitor a respeito da relao entre anlise de
discurso e lingstica. Falar de anlise de discurso (AD) no signica situar-
nos estritamente no campo da lingstica. Contudo, cabe reconhecer que a
AD nasceu dos estudos lingsticos, e, dessa maneira, analisa a materialidade
discursiva, ou seja, as materialidades lingsticas vistas como corporicao
da memria do dizer. Assim, para a AD, os sentidos se manifestam na mate-
rialidade discursiva, que no transparente, mas opaca e exvel, propiciando
a produo de mltiplos sentidos incompletos, mutveis. Como aponta Ma-
ingueneau,
2
a AD no busca apreender a organizao textual, nem a situao
de comunicao, e sim o dispositivo de enunciao, que relaciona certa or-
ganizao textual e um lugar social particular. Portanto, essa conceitualizao
apresentada distancia a AD dos estudos da linguagem em contexto e de de-
nies restritivas que opem a AD anlise da conversao. O importante
para a AD reside em indagar a produo de sentidos, apoiando-se na tripla
tenso entre lngua, sujeito e histria.
Nesse ponto introdutrio, cabe esclarecer tambm que seria um enga-
no falar de anlise de discurso de maneira genrica, pois a AD uma disciplina
fecunda, sujeita a mudanas. Mesmo se tratando da orientao francesa, no
possvel pens-la como mbito terico homogneo, dominado por um ni-
co pensador ou por uma metodologia de trabalho. Branca-Rosoff et al. con-
rmam essa maneira de entender a anlise de discurso: LAD recourt aussi
lanalyse d un faiseau de processus. Ce qui explique que pour nous elle ne puisse
tre rduite une mthodologie applicative.
3
Tal orientao abre certamente
ao pesquisador certa liberdade na escolha das sinalizaes para traar seu ca-
minho investigativo. difcil se referir AD sem reconhecer a grande impor-
tncia dos estudos de Pcheux nessa orientao.
4
No entanto, na elaborao
deste artigo apoiei-me em idias da terceira fase desse lsofo,
5
em que h
uma desconstruo de alguns pilares de sua teoria elaborada nos dois mo-
mentos anteriores.
6
Logo, no tratarei da AD em geral, mas de como ela en-
2
MAINGUENEAU, 1996.
3
BRANCA-ROSOFF et al., 1995, p. 60.
4
Dominique Maingueneau conta a histria da AD francesa, com o objetivo de traar os rumos dessa disciplina
nos dias de hoje. Cf. MAINGUENEAU, 1993.
5
Essa terceira fase passvel de discusso. Ela abre a teorizao para a psicanlise atravs do sujeito. Mas consi-
dero que, ao se tratar da linguagem, tambm abre para o interdiscurso, a pluralidade de sentidos e a histria
segundo uma viso inspirada em Foucault. Cf. idem, 1990.
6
PCHEUX, 1993.
OO
O O
p g y p
im pu lso n 29 25
tendida por Pcheux na fase do seu trabalho que diz
respeito relao entre sujeito e sentidos conforme
visto na perspectiva ps-moderna, ainda que
Pcheux no explicite a sua postura.
Conforme indiquei brevemente, h pouco, a
AD contempla os entrecruzamentos de sujeito, his-
tria e lngua para a constituio dos sentidos. Me-
diante a tripla tenso entre sistematicidade da lngua,
historicidade e interdiscurso
7
possvel reconstituir
as posies-sujeito produzidas em diferentes dis-
cursos. Isso signica que, para a anlise de discurso,
preciso se debruar sobre marcas discursivas que
apontem para essas relaes vinculadas aos efeitos
de sentido
8
correspondentes a diferentes posies-
sujeito. Preocupado com uma teoria sobre o discur-
so, Michel Pcheux elaborou sustentaes tericas
que traaram os contornos de um mbito de saber
que, mesmo prximo da lingstica, no se identi-
cava especicamente com ela: a anlise de discurso.
Nesse campo de estudo dos sentidos, o sujeito um
protagonista descentrado, falado, que se constitui
no discurso.
SUJEITO E SENTIDO
Maldidier comenta que o discurso, para
Pcheux, era o noeud que articulava os tericos
do marxismo, da lingstica e da psicanlise,
9
discur-
so entendido como lugar terico de entrelaamento
de questes relativas lngua, ao sujeito e histria,
no como objeto emprico. Lugar terico de con-
testaes, incertezas, desconstruo e questiona-
mento, que no permite pensar a produo terica
de Pcheux como um trabalho uniforme, sem alti-
baixos. Contudo, nesse processo de reexes sobre
o seu objeto de estudo, delineava-se a continuidade
do questionamento sobre as fundaes epistemo-
lgicas globalizantes, a indagago sobre a produo
de sentidos pelo sujeito.
A anlise de discurso constitua, para
Pcheux, o mbito que podia contestar o estatuto
pr-cientco das cincias sociais segundo um dis-
positivo cientco, como meio de evitar a rotina da
crtica losca tradicional.
10
Os seguidores de
Pcheux situam essa preocupao do autor na pri-
meira fase de sua trajetria (1969-1975), representa-
da em A Anlise Automtica do Discurso, e denomi-
nada por Maldidier como le temps des grandes cons-
tructions.
11
Nesse perodo, Pcheux elabora o seu
projeto de lanalyse automatique du discours e seu
trabalho Les Vrits de la Palice.
12
A cronologia tra-
ada por Maldidier aponta que, depois dessa fase,
Pcheux viveu uma poca de incertezas, ttonne-
ments (1976-1979), sentindo que com Les Vrits
de la Palice tinha levado o seu projeto at o limite:
Il lui faut retrouver un nouveau soufe (...) mais les
ides vritablement neuves manquent.
13
Entre 1976
e 1979, a palavra se impunha sobre a escrita, signi-
cando que as armas de que Pcheux devia dispor
no eram as mesmas da poca das grandes constru-
es. Explode a noo de mquina estrutural fecha-
da, da primeira fase, abrindo-se para uma idia de
formao discursiva invadida por elementos oriun-
dos de outras formaes discursivas. Esses questio-
namentos resultam na chamada terceira fase do au-
tor (1980-1983), que Maldidier denomina dcons-
truction matrise
14
e que ca em aberto com a mor-
te de Pcheux, em 1983. Ele mesmo indica que nela
acontece uma desconstruo das mquinas discur-
sivas, fazendo emergir novos procedimentos da AD.
Conforme indiquei acima, ainda que a lings-
tica seja uma das disciplinas que compem o n do
7
Para compreender o conceito interdiscurso em Pcheux, a relao com a
formao discursiva necessria no sentido de que esta ltima dissimula o
todo complexo com dominante das formaes discursivas, ou seja, o
interdiscurso, intrincado no complexo das formaes ideolgicas. Para
Brando, ao tomar o interdiscurso como objeto, procura-se apreender no
uma formao discursiva, mas a interao entre formaes discursivas dife-
rentes (idem, 1995, p. 90). Nessa tese, o todo complexo dominante o
interdiscurso ser entendido como um campo de entrecruzamentos, de
redes de sentidos historicamente determinadas. Dessa maneira, o interdis-
curso tem a ver com a noo de historicidade, de Pcheux, j que a produo
de sentidos exige o interdiscurso, que historicamente determinado.
8
A expresso efeitos de sentidos uma categoria terica que singulariza o
mbito da anlise de discurso e solicita a trade sujeito, lngua e histria,
apontada anteriormente.
9
MALDIDIER, 1990.
10
HENRY, 1993.
11
MALDIDIER, 1990.
12
Traduzido para o portugus como Semntica e Discurso. Cf. PCHEUX,
1995.
13
MALDIDIER, 1990, p. 46.
14
Courtine duvida do trao de matrise da desconstruo: je ne suis
nullement sr, en particulier, que la dconstruction de la dernire priode ait
t maitrise. Com essas palavras, Courtine reete sobre o aggiorna-
mento que inevitavelmente se instalava no pensamento marxista, denomi-
nado por ele aggiornamento post-marxiste. Cf. COURTINE, 1991.
p g y p
26 im pu lso n 29
discurso a chamada trplice aliana terica
15
, em
que Pcheux se apoiou para as suas teorizaes,
16
o
sujeito da lingstica recusado na sua perspectiva te-
rica. O sujeito-falante que gerencia os sentidos, que
acredita na transparncia da relao entre a lngua e o
objeto nomeado, afastado, abrindo espao para um
sujeito visto como efeito de assujeitamento maqui-
naria da formao discursiva (FD) com que se identi-
ca.
17
Sujeito que, considerando o conceito althus-
seriano de interpelao ideolgica, entendido como
ideologicamente interpelado. Delineia-se um sujeito
que no pode ser entendido como origem de sentido,
mas que est preso na reproduo de sentidos. Nessa
relao entre sentido e sujeito, nem o sentido existe
como uma exterioridade autnoma, nem o sujeito
fonte de sentidos. Isso signica que o sujeito repro-
duz sentidos porque apenas pode nomear, dar conta
do que conhece, do que internalizou.
Pcheux reconhece que o sujeito sente,
18
que dono do seu dizer, que um. Nesse sentido,
enuncia dois esquecimentos, baseados possivelmen-
te em Freud via Lacan,
19
que levam o sujeito a se
pensar como homogneo, autnomo e origem de
sentidos, e que evidenciam o sujeito preso na repro-
duo de sentidos. No primeiro esquecimento, o
sujeito no pode se colocar fora da ideologia que o
domina. Desse modo, o inconsciente e o assujeita-
mento ideolgico criam a iluso do sujeito fonte de
sentidos. O segundo esquecimento indica que o su-
jeito falante tem a iluso de transparncia do senti-
do, eu sei o que eu digo, eu sei do que eu falo,
20
es-
quecendo que os sentidos por ele produzidos pro-
vm da formao discursiva qual ele se lia.
O sujeito que produz sentido, assumindo po-
sies, tomado segundo uma perspectiva althusse-
riana, uma forma-sujeito que revela a forma de
existncia histrica de qualquer sujeito, agente das
prticas sociais.
21
Da maneira como estou mos-
trando o sujeito de que fala Pcheux, no pretendo
apontar dois sujeitos: um do inconsciente e outro
atravessado pela ideologia. A noo de forma-sujeito
reconhece a marca do inconsciente que traz o dis-
curso do Outro (o Outro de Lacan). Este, por sua
vez, faz com que o sujeito funcione como se tomas-
se posio em total liberdade (iluso do sujeito). Na
verdade, esclarece Pcheux, a tomada de posio
no um ato originrio, e sim um efeito do retorno
do Sujeito no sujeito.
22
Essa viso do sujeito, proposta por Pcheux
(na primeira e na segunda fase do seu trabalho), aca-
bou criticada por ele mesmo, que admitiu ter levado
demasiadamente a srio a iluso de um sujeito em
que nada falha. Tal sujeito parece no deixar vcuos,
ser um sujeito completo, em que o assujeitamento
pela ideologia se d automaticamente. Noes
como interdiscurso e pr-construdo
23
abrem uma
brecha para pensar o sujeito constitudo pela exte-
rioridade. Pcheux comenta: uma FD no um
espao estrutural fechado, pois constitutivamente
invadida por elementos que vm de outro lugar (is-
to , de outras FDs que se repetem nela).
24
Do meu
ponto de vista, o reconhecimento da alteridade na
identidade discursiva e o primado do outro sobre o
mesmo so alguns aspectos que sinalizam a reexo
do lsofo em direo interpretao.
Pensar um sujeito que interpreta modie tota-
lement le statut de la discipline,
25
a Anlise de Discurso
(AD), pois esse sujeito interpretante produz sentidos
na trama tecida entre o interdiscurso, a memria
26
e a
15
A trplice aliana constituda pela lingstica, pelo marxismo e pela
psicanlise, mediante a releitura de Saussure, Althusser e Lacan, respectiva-
mente.
16
PCHEUX, 1990.
17
HENRY, 1990, p. 314.
18
A expresso sente minha.
19
GADET et al. comentam que nem Freud nem Lacan guram na biblio-
graa da Anlise Automtica do Discurso, e a psicanlise enquanto tal se
encontra a apenas furtivamente mencionada (GADET et al., 1993, p. 49).
20
PCHEUX & FUCHS, 1993, p. 176.
21
PCHEUX, 1995, p. 183.
22
Embora os conceitos de ideologia e a perspectiva de Lacan sejam consi-
derados por Pcheux em seus estudos, no so entendidos como orienta-
dores desta pesquisa. Ainda assim, entendo importante resgatar a idia do
sujeito como posio a ser preenchida.
23
Para Pcheux, o conceito de pr-construdo, de Paul Henry, remete
simultaneamente quilo que todo mundo sabe, isto , aos contedos de
pensamento do sujeito universal, suporte da identicao, e quilo que
todo mundo, em uma situao dada, pode ser e entender, sob a forma de
evidncias do contexto situacional (ibid., p. 171).
24
Idem, 1993, p. 314.
25
MALDIDIER, 1990, p. 84.
26
Memria, conforme indica MALDIDIER (1990), entendida como
marcas legveis que constituem um corpo sociohistrico de traos.
Segundo essa autora, memria remete noo de memria coletiva, usada
pelos historiadores das mentalidades. Nesse sentido, ela entende que os
trabalhos arqueolgicos de Foucault tm contribudo como quadro de
referncia para o tratamento do documento como monumento.
p g y p
im pu lso n 29 27
heterogeneidade discursiva.
27
Para o sujeito nomear,
produzir sentidos e ver, ele tem de ocupar uma po-
sio. Assim, segundo Pcheux, ele no transcen-
dental, emprico, individual; uma posio a ser pre-
enchida
28
e se identica a uma posio, valendo-se da
linguagem para produzir sentidos. O discurso , en-
to, efeito de sentidos produzidos pelo sujeito.
Com a expresso produzidos pelo sujeito, no
armo em nenhum momento que o sujeito fonte
de sentidos. Tal expresso deve ser lida levando em
conta um sujeito que produz sentido assujeitado
memria do dizer, ao interdiscurso, ou seja, hist-
ria; sentido que, para a anlise de discurso, manifes-
ta-se na materialidade discursiva, ou seja, no intra-
discurso. Para produzir um ou outro sentido, o su-
jeito se assume como tal tendo em vista posies,
passando pela lngua. Ele sempre est em contato
com diversas posies-sujeito, mas necessita assu-
mir uma delas. Como ele assume uma posio?
Como se manifesta essa escolha
29
de posies?
Manifestando sentidos vinculados a essas posies,
que so discursivas, porque no discurso que o su-
jeito evidencia a posio por ele preenchida. No
acontecimento da produo de sentidos, o sujeito
confronta sentidos de posies diversas, que ele re-
conhece, e desse confronto escolhida uma posi-
o, emerge um sentido. Porm, no consiste em
um sentido nico, puro, mas est sempre cons-
titudo na multiplicidade de posies.
Lembro ao leitor que na AD da segunda fase
de Pcheux, o sentido estava muito vinculado a po-
sies menos exveis, segundo propunha a meto-
dologia dialtica para a anlise dos sentidos. Essa
modalidade de anlise considerava a categoria con-
tradio, contrastando fundamentalmente duas po-
sies opostas com a nalidade de fazer emergir o
confronto de sentidos: um sentido armado e ou-
tro negado dialeticamente. Essa perspectiva aban-
donada na terceira fase de Pcheux, quando ele ana-
lisa a interpretao, destacando a pluralidade de sen-
tidos, a disperso de sentidos. O enunciado produz
sentido na lateralidade com outros enunciados, es-
tabelecendo dispositivos de aliana que trazem um
efeito de homogeneizao de sentidos. Iluso de
um sentido homogneo, eu diria, seguindo
Pcheux, iluso de um sujeito produtor de sentidos.
Heterogeneidade discursiva, memria, interdiscursos
so conceitos que desmancham essa iluso e abrem
espao para identicar deslocamentos de sentidos,
de posies-sujeito.
OS EFEITOS DE SENTIDO
A expresso efeitos de sentido apareceu no
campo da anlise de discurso no perodo entre 1960
e 1975, quando as certezas cientcas do positivis-
mo que estabelecia uma relao funcional entre o bio-
lgico e o social enfraqueciam sob o devir de uma
perspectiva terica crtica, que duvidava das evidn-
cias da ordem humana como ordem estritamente
biossocial.
30
No meu entender, a grande fora desse
conceito consiste no fato de que ele fortalece a pos-
sibilidade de pensar em um sujeito diferente daquele
aristotlico, que perdurou por muito tempo. Perce-
ber o sujeito como desprovido dos atributos que lhe
permitiam dar sentido ao mundo, ser fundador do
conhecimento, ctait porter un coup au narcissisme
(individuel et collectif) de la conscience humaine.
31
De onde vm os efeitos de sentido? Alm da con-
cepo do sujeito como uma posio a ser preenchi-
da, necessitamos tambm da presena da histria
para que a AD possa completar a relao entre sujei-
to e sentido. Como falar do discurso, dos efeitos de
sentido, sem falar do sujeito?
Trabalhar prximo a uma perspectiva do dis-
curso, como essa aqui indicada, signica no esque-
cer o sujeito, nem o enfoque histrico do estudo.
Nessa perspectiva, o sujeito se constitui em uma
disperso de enunciados da qual ele o elemento
unicador.
32
Histrico porque o sentido enten-
dido desde uma perspectiva enunciativa, em que a
27
O conceito de heterogeneidade discursiva amplamente trabalhado por
Authier-Revuz, particularmente na sua tese de doutorado Ces mots qui ne
vont pas de soi. Boucles reexives et non-concidences du dire, publicada pela
Editora Larousse, em 1995. Essa categoria terica desmonta a possibili-
dade de considerar o discurso como homogneo. Authier-Revuz desen-
volve suas pesquisas no mbito da enunciao, resgatando o conceito do
Outro, da psicanlise de Lacan. A teoria da heterogeneidade discursiva se
articula a uma concepo de sujeito descentrado.
28
PCHEUX, 1995.
29
Com o termo escolha, no estou evocando um sujeito fonte de sentidos.
30
PCHEUX, 1982.
31
Ibid., p. 11.
32
GUILHAUMOU & MALDIDIER, 1989, p. 66.
p g y p
28 im pu lso n 29
signicao histrica porque determinada pelas
condies sociais de sua existncia,
33
devendo o
sentido ser tratado como discursivo. Para faz-lo, e
denir o sentido partindo do acontecimento enun-
ciativo, Guimares abre um dilogo com a anlise de
discurso, considerando crucial o conceito de inter-
discurso. O interdiscurso a relao de um discur-
so com outros discursos,
34
o conjunto do que
possvel de ser enunciado em certas condies, um
j dito exterior lngua e ao sujeito.
No pargrafo supra, o interdiscurso pode ser
entendido como a memria do dizer (o dizvel, o
possvel de ser enunciado). Essa idia aponta que
podemos assumir a posio de que o sentido em
um acontecimento so efeitos da presena do inter-
discurso. Ou melhor, so efeitos do cruzamento de
discursos diferentes no acontecimento.
35
No en-
tanto, no devemos esquecer que necessitamos da
presena do sujeito como elemento unicador, e do
funcionamento da lngua para a produo de senti-
dos. Essa relao convoca a memria do dizer e o
presente do acontecimento, e nela que se produ-
zem os efeitos de sentido. O sujeito se depara com
a lngua, ela j est a, ela pr-construda ao sujeito.
Ele precisa dela como ferramenta para poder signi-
car. o real da lngua, ferramenta imperfeita, su-
jeita ao equvoco.
36
Por isso, no possvel pensar
em efeito de sentido nico, certo, unvoco, e sim em
efeitos de sentidos possveis, mltiplos, que se cons-
tituem segundo as posies de sujeito, no cruza-
mento de discursos no acontecimento da prtica
discursiva.
No campo da anlise de discurso, Pcheux
apresenta um exemplo de vizinhanas
37
na anlise
do jogo metafrico criado em torno do enunciado
on a gagn, quando Franois Mitterrand ganhou
as eleies para presidente da Repblica francesa.
Esse enunciado on a gagn, esse grito de vitria
compartilha com uma partida de futebol o signi-
cado de grito coletivo, de um time que ganha contra
outro. A vizinhana entre o enunciado poltico e
o esportivo sustenta-se fortemente pela interven-
o dos meios mediticos, particularmente a televi-
so, na apresentao dos resultados em um quadro
lgico: A equipe X, classicada na ensima diviso,
derrotou a equipe Y. A equipe X est, pois, quali-
cada para se confrontar com a equipe Z etc.. A vi-
zinhana evidencia esse veredicto sociopoltico: on
a gagn , ao mesmo tempo, transparente e opaco.
Com respeito a esse enunciado, Pcheux expressa:
sua materialidade lxico-sinttica (um pro-
nome indenido em posio de sujeito, a
marca temporal-aspectual de realizado, o le-
xema verbal gagner [ganhar], a ausncia de
complementos) imerge esse enunciado em
uma rede de relaes associativas implcitas
parfrases, implicaes, comentrios, alu-
ses etc. , isto , em uma srie heterognea
de enunciados, funcionando sob diferentes
registros discursivos, e com uma estabilida-
de lgica varivel.
38
Os conjuntos de enunciados e palavras
transparentes e opacos so possveis derivaes que
criam espaos interpretao: todo enunciado in-
trinsecamente suscetvel de se tornar outro, diferente
de si mesmo, se deslocar discursivamente de seu sen-
tido para derivar para um outro (a no ser que a proi-
bio da interpretao prpria ao logicamente estvel
se exera sobre ele explicitamente).
39
No so as pa-
lavras isoladas, as proposies, suas hierarquias que
criam sentidos, mas as lateralidades (as vizinhan-
as), os pontos de deriva possveis que criam relaes
com outros objetos, outros saberes.
A INTERPRETAO
Nessa instncia das escolhas tericas, convm
lembrar a maneira como entenderei a interpretao.
Compartilho a idia de Pcheux sobre a possibilida-
de, ou melhor, a prpria condio de um enunciado
se tornar outro. Esse outro constri uma represena
daquilo que interpretado, do que instaurado nas
instncias discursivas; o analista de discurso descre-
33
GUIMARES, 1995.
34
Ibid., p. 66.
35
Ibid., p. 67.
36
Na AD, a questo do equvoco tomada de Lacan. Trata-se do equvoco
como falha constitutiva da relao do sujeito com o simblico. Considero
esse esclarecimento necessrio, embora nesse estudo no me lie pers-
pectiva lacaniana.
37
PCHEUX, 1990.
38
Ibid., p. 23.
39
Ibid., p. 53.
p g y p
im pu lso n 29 29
ve (dmultiplie) as relaes entre o que dito em
um lugar particular com aquilo que falado em ou-
tro espao e de outra maneira. Mas sempre se trata
de uma interpretao, de uma nova presena daquele
fato analisado, tout est dj une interprtation,
como diz Maldidier,
40
tomando as palavras de Ni-
etzche. Nessa perspectiva, o analista se afasta da
busca de discursos verdadeiros para car sensvel
s coisas ditas que criam efeitos de sentido diver-
sos: de verdade, de real, de certeza, de invarivel, de
errado...
Como pesquisadora, sou uma leitora que in-
terpreto segundo posies que vou preenchendo,
segundo a minha histria de leitura, o meu gesto de
leitura. Mesmo assim, o meu gesto de fazer emergir
efeitos de sentido no nico, completo, certo ou
errado. um gesto que faz emergir certos enun-
ciados que podem virar outros quando lidos de ou-
tra posio-sujeito, segundo outros gestos de leitu-
ra. Pcheux, ao falar de interpretao, situando o seu
pensamento na terceira poca da AD,
41
destaca que
o estruturalismo dos anos 60, na Frana, considera-
va o real em uma tentativa antipositivista, como se
constituindo no entrecruzamento da linguagem e
da histria. Dessa concepo surgiram novas prti-
cas de leitura, orientadas a multiplicar as relaes en-
tre o que dito em um lugar e o que falado em ou-
tro, de outra maneira, visando a entender
42
os
no-ditos no interior do que dito. Entretanto, esse
lsofo considera que as abordagens estruturalistas
davam ateno aos arranjos textuais discursivos na
sua intrincao material, sem levar em conta a pro-
duo de interpretao pelos sujeitos. Entre 1960 e
1975, acontece na Frana uma reestruturao global
na rede de disciplinas ans lingstica.
43
O surgi-
mento da antropologia estrutural, a renovao na
epistemologia e na histria das cincias, e a releitura
das teorias marxistas, por exemplo, se traduziram
em uma virada no sistema de alianas entrelaadas
em torno da lingstica.
Conceitos como metfora, metonmia e efeitos
de sentido questionavam as evidncias do positivis-
mo biopsicossocial, conforme indiquei acima, en-
fraqueciam o bloco que articulava o biolgico com
o social e colocavam sob suspeita o sujeito psicol-
gico: ctait porter un coup au narcissisme (individu-
el et collectif) de la conscience humaine.
44
Em uma
palavra: a revoluo cultural estruturalista no dei-
xou de fazer pesar uma suspeita absolutamente ex-
plcita sobre o registro do psicolgico.
45
No incio
dos anos 80, esse desmoronamento de certezas que
colocaram o estruturalismo como cincia rgia,
46
que negaram a interpretao, coincidiu com um
crescimento da recepo dos trabalhos de Lacan,
Derrida, Foucault e Barthes em pases como a In-
glaterra, a Alemanha e os EUA. Paradoxalmente, en-
quanto a Amrica descobria o estruturalismo, os in-
telectuais franceses viravam a pgina, colocando-se
em posio de rejeitar as teorias que tinham a pre-
tenso de falar em nome das massas, produzindo
uma longa srie de gestos simblicos inecazes e
performativos polticos infelizes.
47
A reviso crtica
do estruturalismo tirou impiedosamente o sujeito
da lingstica do centro da cena de produo de sen-
tidos, abrindo espaos que solicitaram tomar distn-
cia de qualquer cincia rgia presente ou futura
(que trate de positivismos ou de ontologias marxis-
tas).
48
Assim, essa viso de sujeito descentrado, que
j no mais gerencia os sentidos, harmoniza com a
preocupao de Pcheux sobre como ele entende a
interpretao, que, alis, ele mesmo confessa, no se
trata de uma posio pessoal, mas de uma perspec-
tiva de trabalho desenvolvida na Frana.
49
Esse tra-
balho d o primado aos gestos de descrio das
materialidades discursivas,
50
descrio que supe
o reconhecimento de um real especco sobre o
qual ela se instala: o real da lngua.
51
Lngua que
sujeita incompletude, lngua fadada a no dar con-
ta das coisas. Nesse sentido, Pcheux aponta a pos-
40
MALDIDIER, 1990, p. 314.
41
PCHEUX, 1990.
42
As aspas so de Pcheux.
43
PCHEUX, 1982.
44
Ibid., p. 11.
45
Idem, 1990, p. 46.
46
Expresso que no prprio texto de Pcheux aparece entre aspas. Cf.
PCHEUX, 1990.
47
Ibid., p. 48.
48
Ibid., p. 49.
49
Ibid. Esse texto uma traduo do original editado em 1988.
50
Ibid., p. 50.
51
Ibid.
p g y p
30 im pu lso n 29
sibilidade de um enunciado se tornar outro, pois a
descrio desse real est exposta ao equvoco da ln-
gua. Descrio e interpretao se convocam; no
so a mesma coisa, mas constituem o gesto neces-
srio que abre
52
a lngua produo de sentidos
diversos: todo enunciado, toda seqncia de enun-
ciados, pois lingisticamente descritvel como
uma srie (lxico-sintaticamente determinada) de
pontos de deriva possveis, oferecendo lugar inter-
pretao. nesse espao que pretende trabalhar a
anlise de discurso.
53
Nesse gesto o da interpretao, segundo
Pcheux h o outro nas sociedades e na histria, e
possvel a transferncia, a ligao com o discurso-
outro, com as redes de memria, dando lugar a lia-
es identicadoras em que o sujeito assume posi-
es. Tomada uma posio, o sujeito tem a iluso de
saber do que fala, do que se fala, iluso que nega o ato
de interpretao no momento exato em que ele apa-
rece. Desse ponto de vista, entendo que o sujeito que
interpreta ocupa ento uma posio provisria, que,
como tal, no completa, unvoca e estvel; pelo con-
trrio, varivel, transitria, plural e relacional.
Seguidora do pensamento de Pcheux, Eni
Orlandi detm-se na anlise da interpretao.
54
A
matria signicante, como Orlandi nomeia a pala-
vra, afeta o gesto de interpretao, porque essa ma-
tria exvel, opaca, plural, aberta para a disperso.
A matria signicante um ponto de possveis fu-
gas de sentido segundo o gesto de interpretao,
isto , segundo uma tomada de posio pelo sujeito.
Nesse gesto intervm as relaes entre a lngua e o
interdiscurso (a memria do dizer) e entre estrutura
e acontecimento. Tais relaes fogem ao controle
do sujeito e mostram que os sentidos no emanam
das palavras, mas se manifestam no uso que delas
faz o sujeito.
O analista, segundo Achard, toma a enuncia-
o no como advinda de um sujeito, mas como
operaes que regulam a retomada e a circulao do
discurso.
55
O analista trabalha partindo de uma po-
sio enunciativa que tambm aquela de um sujei-
to histrico que tenta dar conta de que a memria
suposta pelo discurso sempre reconstruda na
enunciao. Desse modo, possvel retomar a idia
da interpretao do analista como um gesto incom-
pleto, equvoco, desautomatizado e provisrio, que
se sustenta em um dispositivo terico para trabalhar
a opacidade da linguagem, para produzir efeitos de
sentido. Sentidos que tambm so mveis, singula-
res e provisrios.
CONCLUSO
Para encerrar, apresento sucintamente algu-
mas questes cruciais para pensar a anlise de dis-
curso como uma possibilidade de reetir sobre a
produo de sentidos, no segundo uma perspecti-
va puramente lingstica, mas como uma proposta
terica que supera o mbito especco dos lingis-
tas, tornando-se um outro referencial, com base no
qual possvel criar novos signicados. Os concei-
tos apontados anteriormente levam, necessariamen-
te, apresentao desse campo de saber como uma
alternativa para produzir conhecimentos. Falar da
tenso entre lngua, sujeito e histria diferencia (sin-
gulariza) essa forma de conhecimento das anlises de
contedo, das anlises hermenuticas. Na AD, na
materialidade discursiva, no h um sentido oculto
necessrio de desvelar, no h uma busca de verdade,
nem um contedo escondido por trs das palavras.
Pensar na materialidade discursiva, conforme
j foi apontada, como manifestao de sentidos, de
posies-sujeito, coloca a AD longe de uma viso
clssica da linguagem, distante de uma representa-
o transparente da linguagem, e prxima de uma
posio que agua as possibilidades de dar existncia
aos sentidos silenciados, s singularidades. Nesse
sentido, a anlise de discurso, vista como forma de
conhecimento, foge do domnio dos experts, inverte
a ordem, a relao entre sujeito e discurso. Assim, o
discurso constituinte e constituidor do sujeito,
prtica social de produo de sentidos que d exis-
tncia aos objetos, que cria condies e possibilida-
des para que as coisas do mundo signiquem, para
que a posio-sujeito seja preenchida.
O desao do analista consiste em trabalhar a
tripla tenso entre lngua, sujeito e histria, esta l-
52
Com o termo abre, no estou apontando a idia de lngua como reserva
de sentidos.
53
Ibid., p. 53.
54
ORLANDI, 1996.
55
ACHARD, 1999.
p g y p
im pu lso n 29 31
tima no universalizante, e sim singularizante, que
se desloca para o acontecimento. preciso, ento,
empreender uma caminhada que se afaste da busca
de verdades totalizantes, de certezas permanentes,
de sujeitos de inteno e fonte de sentidos, de
modo a praticar um gesto de leitura em que o olhar
v o que dito en passant, sussurrado. Ser a
anlise de discurso o caminho perfeito para fazer
emergir sentidos silenciados, calados, sussurrados?
No dessa maneira que a AD deve ser vista; caso
contrrio, ela se tornaria em uma metanarrativa. O
ponto forte desse campo de saber constitudo
pela incompletude desse campo, pela possibilidade
de trabalhar a disperso de sentidos, a disperso
das posies-sujeito, o provisrio do aconteci-
mento.
Referncias Bibliogrcas
ACHARD, P. Memria e produo discursiva do sentido. In: ACHARD, P. et al. Papel da Memria. Campinas: Pontes, 1999.
BRANCA-ROSOFF, S. et al. Questions dhistoire et de sens. Langages, les analyses du discours en France, Paris, (117): 54-66,
1995.
BRANDO, H. Introduo Anlise do Discurso. Campinas: Editora da Unicamp, 1995.
COURTINE, J.J. Le discours introuvable: marxisme et linguistique (1965-1985). Thorie et Donns. Paris, 7: 153-171, 1991.
GADET, F. et al. Apresentao da conjuntura em lingstica, em psicanlise e em informtica aplicada ao estudo dos tex-
tos na Frana, 1969. In: GADET, F. & HAK, T. (orgs.). Por uma Anlise Automtica do Discurso: uma introduo obra
de Michel Pcheux. Campinas: Editora da Unicamp, 1993.
GUILHAUMOU, J. & MALDIDIER, D. Da enunciao ao acontecimento discursivo em anlise do discurso. In: GUIMARES,
E. (org.). Histria e Sentido na Linguagem. Campinas: Pontes, 1989.
GUIMARES, E. Os Limites do Sentido: um estudo histrico e enunciativo da linguagem. Campinas: Pontes, 1995.
HENRY, P. Os fundamentos tericos da anlise automtica do discurso. In: GADET, F. & HAK, T. (orgs.). Por uma Anlise
Automtica do Discurso: uma introduo obra de Michel Pcheux. Campinas: Editora da Unicamp, 1993.
MAINGUENEAU, D. Lanalyse du discours en France aujourdhui.Le Franais dans le Monde, Paris, (numro spcial): 9-15,
1996.
__________. Novas Tendncias em Anlise do Discurso. Campinas: Pontes, 1993.
MALDIDIER, D. LInquitude du Discours. Paris: ditions des Cendres, 1990.
ORLANDI, E. Interpretao,Autoria,Leitura e Efeitos do Trabalho Simblico. Petrpolis: Vozes, 1996.
PCHEUX, M. Semntica e Discurso:uma crtica armao do bvio. Campinas: Editora da Unicamp, 1995.
__________. A anlise de discurso: trs pocas (1983). In: GADET, F. & HAK, T. (orgs.). Por uma Anlise Automtica do Dis-
curso: uma introduo obra de Michel Pcheux. Campinas: Editora da Unicamp, 1993.
__________. Discurso: estrutura ou acontecimento. Campinas: Pontes, 1990.
__________. Sur la (d-)construction des thories lingistiques. DRLAV, (27): 1-24, 1982.
PCHEUX, M. & FUCHS, C. A propsito da anlise automtica do discurso: atualizao e perspectivas (1975). In: GADET, F.
& HAK, T. (orgs.). Por uma Anlise Automtica do Discurso: uma introduo obra de Michel Pcheux. Campinas: Edi-
tora da Unicamp, 1993.
p g y p
32 im pu lso n 29
p g y p
Você também pode gostar
- Discurso Aos PsiquiatrasDocumento20 páginasDiscurso Aos Psiquiatrasprisci_05100% (5)
- Texto 03 - POUPART, Jean. A Entrevista Do Tipo Qualitativo - Considerações Epistemológicas, Teóricas e Metodológicas.Documento19 páginasTexto 03 - POUPART, Jean. A Entrevista Do Tipo Qualitativo - Considerações Epistemológicas, Teóricas e Metodológicas.rodrigues321Ainda não há avaliações
- O Metodo Biografico Na Formacao de ProfessoresDocumento12 páginasO Metodo Biografico Na Formacao de ProfessoreshuugAinda não há avaliações
- Maria Do Horto Sales TielletDocumento11 páginasMaria Do Horto Sales TiellethuugAinda não há avaliações
- Janaína Luiza Dos SantosDocumento4 páginasJanaína Luiza Dos SantoshuugAinda não há avaliações
- Fundamentos Curitiba PDFDocumento3 páginasFundamentos Curitiba PDFClaytonAinda não há avaliações
- A Psicanálise e A Mulher - FemininoDocumento250 páginasA Psicanálise e A Mulher - FemininoFilipaAinda não há avaliações
- Lacan Seminário 23 Nota 11 - O Lapso Do NóDocumento2 páginasLacan Seminário 23 Nota 11 - O Lapso Do NóUlisses Reis Jr.Ainda não há avaliações
- 348-Analice PalombiniDocumento248 páginas348-Analice PalombiniPedroAndradeAinda não há avaliações
- A Psicomotricidade e A Educação SomáticaDocumento271 páginasA Psicomotricidade e A Educação SomáticaCintia MeloAinda não há avaliações
- Minha Vida Daria Um Romancen Maria Rita KehlDocumento32 páginasMinha Vida Daria Um Romancen Maria Rita KehlJuliana LoureiroAinda não há avaliações
- Neurose Obsessiva - Uma Opção Pela Servidão VoluntáriaDocumento4 páginasNeurose Obsessiva - Uma Opção Pela Servidão VoluntáriaMaria GabrielaAinda não há avaliações
- MAGNO (2007) Ad Sorores Quatuor (Os 4 Discursos)Documento276 páginasMAGNO (2007) Ad Sorores Quatuor (Os 4 Discursos)Carlos LinharesAinda não há avaliações
- Artigo Psicanalise Infantil - Kelly Tainara S. VelosoDocumento11 páginasArtigo Psicanalise Infantil - Kelly Tainara S. VelosoEliana Alfenas FialhoAinda não há avaliações
- A Voz Da Sereia Uma SínteseDocumento20 páginasA Voz Da Sereia Uma SínteseAnderson CastroAinda não há avaliações
- Esboços EpistemológicosDocumento13 páginasEsboços EpistemológicosMaya VidinhaAinda não há avaliações
- Sujeito e CulturaDocumento9 páginasSujeito e CulturaKurato cervejariaAinda não há avaliações
- Cadernos Traco3 TransferenciaDocumento25 páginasCadernos Traco3 TransferenciaJoão Augusto PontesAinda não há avaliações
- O Mecanismo Psiquico Do EsquecimentoDocumento13 páginasO Mecanismo Psiquico Do EsquecimentoCíntia FariaAinda não há avaliações
- Boletim Do Forum Do Campo Lacaniano 2022 - PROVA PLOTTER BAIXA 1Documento56 páginasBoletim Do Forum Do Campo Lacaniano 2022 - PROVA PLOTTER BAIXA 1CesarRodriguesAinda não há avaliações
- Uma Política Do SinthomaDocumento2 páginasUma Política Do SinthomaEscola Brasileira Psicanálise Ebp SpAinda não há avaliações
- ANTELO Tempos-ValiseDocumento31 páginasANTELO Tempos-Valisedavi pessoaAinda não há avaliações
- O Avesso Das Famílias Sege CottetDocumento6 páginasO Avesso Das Famílias Sege CottetCardes PimentelAinda não há avaliações
- Aula 1 - A Criança Como Método para Ler LacanDocumento24 páginasAula 1 - A Criança Como Método para Ler LacanMarcelo Santos SoledadeAinda não há avaliações
- Miolo - Psicanálise e Antropologia - UVA - FimDocumento77 páginasMiolo - Psicanálise e Antropologia - UVA - FimMariana VivasAinda não há avaliações
- EJA - 3º Ano - FilosofiaDocumento35 páginasEJA - 3º Ano - FilosofiaJose Roberto Saldanha100% (1)
- Curso de Capacitacao e Aperfeicoamento em Psicanalise SiteDocumento148 páginasCurso de Capacitacao e Aperfeicoamento em Psicanalise SitePaulo PhAinda não há avaliações
- Fetichismo em FreudDocumento8 páginasFetichismo em FreudJoelton NascimentoAinda não há avaliações
- ZIZEK, Slavoj - em Defesa Das Causas Perdidas (Retail)Documento470 páginasZIZEK, Slavoj - em Defesa Das Causas Perdidas (Retail)Shirley Camargo100% (6)
- Jairo Gerbase - Seminário 25 - O Momento de ConcluirDocumento6 páginasJairo Gerbase - Seminário 25 - O Momento de ConcluirNightmare Phoenix100% (1)
- A Avaliacao Clinica e Os Fenomenos ElementaresDocumento6 páginasA Avaliacao Clinica e Os Fenomenos ElementaresingridparreiralopesAinda não há avaliações
- Fala Sobre Psicólogo No CapsDocumento5 páginasFala Sobre Psicólogo No CapsNatálïa JordâoAinda não há avaliações
- SuperidentificaçãoDocumento20 páginasSuperidentificaçãoIvan CruzAinda não há avaliações
- O Trauma Ao AvessoDocumento4 páginasO Trauma Ao AvessoEscola Brasileira Psicanálise Ebp SpAinda não há avaliações