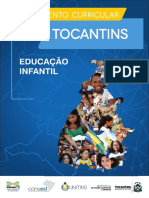Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Concepções Teóricas e Práticas Na Produção Textual
Concepções Teóricas e Práticas Na Produção Textual
Enviado por
Thaís ChavesDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Concepções Teóricas e Práticas Na Produção Textual
Concepções Teóricas e Práticas Na Produção Textual
Enviado por
Thaís ChavesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Trab. Ling. Aplic., Campinas, 49(1):129-143, Jan./Jun.
2010
ATIVIDADE VERSUS EXERCCIO: CONCEPES TERICAS E A PRTICA DA
PRODUO TEXTUAL NO ENSINO DE LNGUA PORTUGUESA
ACTIVITY VERSUS EXERCISE: THEORETICALAPPROACHES AND PRACTICE OF
TEXTUAL PRODUCTION IN THE TEACHING OF PORTUGUESE
MIRIAN SANTOS DE CERQUEIRA*
RESUMO: Este trabalho tem o objetivo de refletir sobre a distino entre atividade e exerccio no ensino
de lngua portuguesa. Primeiramente, examinaremos as referidas noes luz de algumas tendncias
pedaggicas; em seguida, analisaremos as proposies de manuais acerca dos conceitos mencionados e,
finalmente, utilizaremos as reflexes obtidas a partir da observao de uma sala de aula de uma escola
pblica do ensino fundamental. Esse estudo nos leva a concluir que o trabalho com a escrita em sala de aula
de lngua portuguesa privilegia o exerccio e, consequentemente, uma viso de lngua fragmentada e
sobretudo normativa.
Palavras-chave: atividade; exerccio; ensino de lngua portuguesa.
RESUME: Ce travail a pour objectif de rflchir sur la distinction entre activit et exercice dans l
enseignement de Langue Portugaise. Premirement nous examinerons ce sujet la lumire de quelques
tendances pdagogiques actuelles; ensuite nous analyserons les propositions des manuels ce sujet et
finalement nous utiliserons les rflexions obtenues partir de lobservation dune salle de classe de l
enseignement public (8e anne au Brsil). Cette tude nous mne conclure que le travail avec lcriture
en salle de classe de Langue Portugaise (langue maternelle) privilgie lexercice et, par consquent, une
vision de langue fragmente et surtout normative.
Mots-Cls: activit, exercice, enseignement de langue portugaise.
INTRODUO
Durante muito tempo tem-se interrogado sobre a prtica de produo escrita na escola,
sobretudo, em sala de aula de lngua portuguesa (Cf. ILARI, 1986, GERALDI, 1984, 1993,
1996 e 1997, FARACO, 1984, dentre outros). O que se tem obtido como resposta, na maioria
das vezes, ainda parece ser o seguinte: nossos alunos, em sua maioria, sobretudo os de
nvel fundamental, apresentam inmeras dificuldades para produzir textos em gneros e
tipos diversificados. Quando diante de uma situao que lhes exige a utilizao da escrita
como manifestao de suas opinies, valores, crenas, alegam que no sabem escrever e/
ou no gostam de faz-lo. Associada a isso, pode ser observada, tambm, a insatisfao de
professores ao dizerem que seus alunos no escrevem com coeso ou coerncia, no tm
UFT, Tocantins (TO), Brasil. <miriancerqueira@gmail.com>.
CERQUEIRA Atividade versus exerccio: concepes tericas...
clareza nas idias. Ressaltam, sobremaneira, questes de ordem da grafia, da concordncia,
da regncia nominal e verbal, geralmente apresentadas fora da variante padro da lngua.
Diante de tais questes, e buscando compreender o porqu da recorrncia de tais afirmaes,
bem como algumas razes do insucesso atestado no processo de ensino e aprendizagem
de lngua portuguesa, de uma forma geral, o presente artigo tem como objetivo central
refletir sobre a distino entre as noes conceituais de atividade e exerccio no mbito do
ensino de portugus lngua materna.
Para isso, fazemos, em um primeiro momento, um breve percurso acerca das concepes
intituladas atividade e exerccio dentro de algumas das principais tendncias pedaggicas,
a fim de compreendermos o papel do professor, dos alunos e o que implica ensinar e
aprender para cada uma dessas tendncias, uma vez que, assim procedendo, estaremos
relacionando as noes de atividade e/ou exerccio subjacentes (ou no) s tendncias
abordadas para, posteriormente, estabelecermos nossa prpria distino acerca de tais
noes. Em um segundo momento, traamos um breve percurso dentro de algumas teorias
lingusticas e teorias de linguagem quando essas so transpostas (aplicadas) ao ensino
e aprendizagem de lngua portuguesa via livro didtico. Todavia, ressaltamos que no o
foco de nosso estudo uma anlise aprofundada em livros didticos (DIONSIO & BEZERRA,
2001), razo pela qual nos limitamos apenas a alguns exemplos, os quais nos serviro como
ponto de partida para tornar mais clara a distino que estabelecemos sobre os dois
conceitos em questo: atividade e exerccio. Por ltimo, fazemos uma breve anlise de
alguns textos produzidos por alunos de lngua portuguesa de uma turma de 8 srie do
Ensino Fundamental de uma escola pblica de Macei.
2. ATIVIDADE E EXERCCIO EM ALGUMAS TENDNCIAS PEDAGGICAS
No mbito de algumas tendncias pedaggicas, apresentam-se diversas concepes
acerca do que vm a ser, de forma subjacente, atividade e exerccio. A adoo de qualquer
um dos dois conceitos, por sua vez, traz implicaes no apenas da ordem da aprendizagem,
mas tambm na forma de conceber a educao como um todo.
Partindo de uma viso que prioriza as atitudes do sujeito aprendiz, em sala de aula, h,
dentro das tendncias renovadas, sobretudo dentro do escolanovismo, a supervalorizao
das atividades realizadas pelo aluno.
De orientao liberal, tais tendncias subdividem-se, segundo Libneo (1994, p. 65)
em: progressista (que se baseia na teoria educacional de John Dewey), a no-diretiva
(principalmente inspirada em Carl Rogers), a ativista-espiritualista (de orientao catlica),
a culturalista, a piagetiana, a montessoriana e outras. medida que buscam a satisfao
do aluno diante da vida, para a qual a escola apenas um instrumento facilitador, tais
tendncias terminam por reduzir o papel da escola a preocupaes psicolgicas do sujeito
(aluno). Conforme Libneo, apud Luckesi (1994, p. 59), todo esforo est em estabelecer
um clima favorvel a uma mudana dentro do indivduo, isto , a uma adequao pessoal s
solicitaes do ambiente (...). O resultado de uma boa educao muito semelhante ao de
uma boa terapia.
130
Trab.Ling.Aplic., Campinas, 49(1), Jan./Jun. 2010
Com essa supervalorizao das atividades originadas pelo aluno, ficando a seu critrio,
na maioria das vezes, o que estudar, tem-se, consequentemente, um esvaziamento dos
conhecimentos a serem adquiridos pelos alunos, chegando-se ao que diz Jesus (1998, p.
76),
O ativismo pedaggico implica o espontanesmo defendido principalmente pela escola
nova (ordonovismo). Ao colocar a criana no centro do processo educativo, com fazia
Rosseau, os adeptos daquela pedagogia defendiam a conquista da liberdade mediante a
experincia da prpria criana, sem a interveno de um saber historicamente determinado,
sem a mediao do mestre.
Contra tal ativismo, Jesus (op. cit., p. 76-77) ressalta que Gramsci (1977) julgava como
primordial que se priorizasse a criatividade em detrimento da atividade, pois esta, como
proposta pela Escola Nova, implicaria um conformismo por parte do professor ao considerar
o dinamismo de seus alunos. Segundo Jesus (op. cit., 76-77),
A escola ativa, embora o nome implique ao, movimento, poderia existir sem que fosse
comprometida a formao do aluno. Gramsci queria se precaver contra as teorias das escolas
novas (do movimento escolanovista) que viam, em primeiro plano, a atividade da criana.
Seu objetivo era superar o estgio da atividade da escola pelo da criatividade, pois sabia que em
uma escola sem criatividade o aluno poderia ser uma marionete muito ativo [si.].
Disso podemos depreender que o termo atividade, como concebido pela escola nova,
reduz, de alguma forma, a relao professor-aluno ao binmio aluno-aprendizagem, na
hiptese de esta ltima ser concretizada. Tal perspectiva liberal tradicional, em que,
geralmente, o papel do aluno se restringia passividade em detrimento da importncia dada
ao professor como detentor de um poder e conhecimento incontestveis. No mbito da
tendncia tradicional, segundo Luckesi (1994, p . 57),
a reteno do material ensinado garantida pela repetio de exerccios sistemticos e
recapitulao da matria. A transferncia da aprendizagem depende do treino; indispensvel
a reteno, a fim de que o aluno possa responder s situaes novas de forma semelhante s
respostas dadas em situaes anteriores [grifos nossos].
Refletindo sobre tal questo, se considerarmos, de um lado, que no escolanovismo o
aluno passa a ser visto como sujeito ativo, no receptculo de conhecimentos transmitidos
pelo professor, haveremos de perceber que houve, de alguma forma, um avano em relao
perspectiva dita tradicional. Mas, se, por outro lado, esse sujeito ativo foi colocado no
centro do processo de ensino e aprendizagem custa do papel marginal e quase inexistente
do professor e das condies histrico-sociais, percebemos que houve, apenas, uma
transferncia de foco, ou seja, prevalece, ainda, a excessiva valorizao de apenas umas
das partes constitutivas do processo: professor (-) aluno= + professor; aluno (-) professor=
+ aluno, o que nos possibilita questionar, portanto, a falta de integrao e complexidade da
relao intersubjetiva entre professor e aluno e, conseqentemente, a relao que se
estabelece quando se trata de atividades em sala de aula e ainda a ausncia do histricosocial.
131
CERQUEIRA Atividade versus exerccio: concepes tericas...
Diferentemente do ativismo apregoado pela Escola Nova, o que para ns se apresenta
como atividade ir mobilizar aes e atitudes por parte dos sujeitos, isto , a concepo de
atividade que adotamos no poderia centralizar um sujeito para marginalizar outro, nem
tampouco desconsiderar o contexto histrico-social. S poderemos, ento, optar por uma
viso ativa (dentro de uma perspectiva de compreenso responsiva ativa, nos termos
Bakhtinianos1 ), o que no quer dizer individualista ou ativista, mas relacional.
Partindo, pois, de tais consideraes, trazemos para reflexo o que implica conceber
atividade de uma forma relacional em contrapartida noo de exerccio. Para ns, uma vez
que consideramos atividade como algo que ultrapassa a viso imediatista da sala de aula,
refletindo-se na formao dos sujeitos, de uma forma mais ampla, o exerccio estaria para o
reducionismo do processo de ensino e aprendizagem, ou seja, estaria voltado para a prtica
em que se tem, de antemo, o propsito de se alcanar um objetivo mais imediato, no
havendo, necessariamente, um comprometimento com a formao para alm do espao da
sala de aula, mas a predominncia do treinamento do que ensinado. Vimos, dessa forma,
que o exerccio se limitaria a um fim mais especfico em que entraria em jogo, apenas, a
verificao da aprendizagem do aluno por parte do professor em relao a um tpico
especfico de contedo programtico.
Se estabelecermos uma relao com a distino feita por Geraldi (1993, 1997) entre
produo e redao, poderemos dizer, talvez, que exerccio est para esta assim como
atividade est para aquela, uma vez que produo, assim como atividade, implicam uma
relao complexa de trabalho por parte do produtor, em nosso caso, professor e aluno,
enquanto a redao, assim como o exerccio, condiciona tais sujeitos a seguirem um modelo
do regular, do que pode, deixando de fora, muitas vezes, a possibilidade da criatividade,
do estilo.
Diante da escolha que operamos no presente trabalho, a noo de atividade se efetua
como uma prtica que envolve no apenas questes concernentes a procedimentos tcnicometodolgicos, enquanto elementos facilitadores de aprendizagem, mas tambm fatores
voltados para alguma forma de compreender a relao entre a escola e a sociedade, no
como uma perspectiva utpica de transformao, mas como trabalho que pressupe a
participao de sujeitos que, no completamente livres nem totalmente determinados,
possam agir dentro e fora da sala de aula, no condicionados por um espontanesmo sem
objetivo, nem tampouco motivados por um dinamismo inconsequente.
Toda essa discusso que ora estabelecemos acerca das noes de atividade e exerccio
nos fundamental para entendermos se o que ocorre em sala de aula, mais especificamente
no contexto de nossa pesquisa, trata-se de atividade de produo de texto ou exerccio.
Interessa-nos, ainda, entender as implicaes no processo de ensino e aprendizagem, ou
seja, se o professor trabalha com a linguagem atravs de exerccios ou atividade, e que
consequncias existem para a prtica dos alunos enquanto produtores de texto dentro da
sala de aula e alm dela. Inferimos que tais conseqncias podero ser significativas,
tambm, quando os alunos depararem com situaes de uso da linguagem fora da sala de
aula, uma vez que acreditamos que aquilo que se aprende (ou no) em sala de aula repercute
na vida do aluno fora dela e vice-versa.
132
Cf. Bahktin (1986).
Trab.Ling.Aplic., Campinas, 49(1), Jan./Jun. 2010
2. ATIVIDADE E EXERCCIO EM ALGUNS LIVROS DIDTICOS
Considerando, a priori, a concepo de exerccio fundamentada numa viso tradicional
de ensino de lngua, em que essa deve ser analiticamente estudada, tendo em vista
categorizao, classificao e definio de termos e de classes de palavras, encontram-se,
correntemente, em diferentes livros didticos, exerccios como o que segue abaixo2:
Exemplo (1)
Classifique as desinncias (gnero, nmero, tempo, modo e pessoa) das palavras que
seguem:
a. gringos
b. brincava
c. pensassem
d. eu grito
e. disseste
Aps breve explanao e definio do que vm a ser as desinncias de gnero,
nmero, tempo, modo e pessoa, espera-se que o aluno seja capaz de classific-las, fazendo
dele um especialista em morfologia. Da, v-se que tal perspectiva toma o exerccio como
uma testagem, ou seja, como um instrumento que serve para avaliar o grau de compreenso
do aluno em relao ao contedo ensinado. Diferentemente de tal noo o que aparece
sob o nome de sugestes de atividades complementares, nesse mesmo livro, conforme
podemos verificar com o exemplo3 abaixo:
Exemplo (2)
Faam uma pesquisa sobre os pases africanos em que o portugus a lngua oficial.
Cada grupo fica responsvel por um pas. Seria ideal conseguir dados sobre costumes,
pessoas que se destacam como a cantora Cesria vora, de Cabo Verde. Procurem
fotos em revistas ou na Internet. Cada grupo apresenta o trabalho para a classe em
forma de seminrio.
Estabelecendo um paralelo entre exerccio e atividade (com base nos exemplos acima
ilustrados), podemos verificar que o primeiro est a servio imediato do ensino da gramtica
normativa, contemplando suas categorizaes, classificaes e mtodo analtico, ao passo
que a segunda est a servio de uma prtica que ultrapassa as preocupaes meramente
gramaticais, pretendendo-se (porque muitas vezes no se alcana) que o ensino da lngua
possa ter, de alguma forma, maior utilidade para a vida do aluno de uma forma geral.
Considerando, tambm, o surgimento do estruturalismo, a busca pela melhoria nas
abordagens e metodologias de ensino de lnguas, sobretudo de lnguas estrangeiras, foi se
dando gradativamente, de tal forma a influenciar a elaborao de material didtico e a
postura do professor em relao ao ensino de lngua. Isso contribuiu para que o mtodo,
2
3
Exerccios retirados do livro didtico de FARACO & MOURA (2002).
Idem.
133
CERQUEIRA Atividade versus exerccio: concepes tericas...
at ento tido como tradicional fosse questionado como obsoleto e inadequado aos fins
comunicativos a que a lngua deveria se prestar. Operou-se uma corrida pela adoo, quase
que total, dos pressupostos terico-metodolgicos advindos do estruturalismo, elaborandose com isso o mtodo estrutural.
Segundo Travaglia et al. (1984, p. 16),
O mtodo estrutural um mtodo direto, pois leva o aluno a utilizar o lxico e as estruturas
da lngua diretamente sem passar por uma fragmentao analtica da mesma, ou seja, sem a
prvia interveno de regras gramaticais que, no mtodo tradicional, eram o objetivo primeiro
e que s penosamente conduzem o aluno a uma viso do todo da lngua, se esta chega a
ocorrer.
Com base em tais pressupostos, o mtodo estrutural se constitui de exerccios que
levam o aluno a operar com a lngua, levando em conta as possibilidades de uso, partindo
sempre de um estmulo, dado pelo professor, para chegar resposta esperada, uma vez que
se baseia na concepo behaviorista de aprendizagem, em que se prioriza a formao de
hbitos automticos por parte do aprendiz. Tais exerccios so classificados em: 1. Exerccio
de repetio (simples, regressiva e com audio); 2. Exerccio de substituio (simples,
dupla, tripla e com expanso ou reduo); 3. Exerccio de transformao (por adio ou
ampliao, reduo e transposio), dentre outros (cf. TRAVAGLIA, 1984).
A adoo de tais exerccios como mecanismo (estratgia) de aprendizagem tem sido
at hoje uma presena constante em livros didticos, embasados nesse mtodo, como
podemos observar nos seguintes exemplos4:
Exemplo (3)
Escreva, em seu caderno, as oraes seguintes em ordem inversa, dando realce ao
predicativo; siga o modelo:
O brasileiro no pontual
Pontual o brasileiro no
a) O brasileiro no preguioso.
b) Aquele francs foi astuto.
c) A palavra amanh importante.
d) Aquele poema de lvares de Azevedo famoso.
e) O refro do poema sintomaticamente brasileiro.
Percebe-se em tais exerccios uma preocupao em levar o aluno a treinar um
determinado tipo de estrutura, em que dever seguir um modelo, no havendo, pois, qualquer
nfase na classificao explcita de categorias gramaticais. O que se espera do aluno a sua
capacidade em seguir instrues de uso, fazendo-o passar da ordem cannica da estrutura
oracional para a ordem no cannica, o que, alis, o aluno j sabe fazer tendo em vista ser
ele falante nativo do portugus. No h, no exerccio acima, nenhuma articulao com o
134
Esses exemplos foram retirados do livro de SOARES (1990).
Trab.Ling.Aplic., Campinas, 49(1), Jan./Jun. 2010
estilo, ou seja, no se apresenta a relao existente entre a ordem de uma estrutura e o estilo
de escrita de cada sujeito, bem como o fato de que se podem ter objetivos especficos em tal
inverso.
Exerccios como os acima apresentados ocupam a maior parte do tempo de alunos,
sendo instrumentos de aprendizagem dos quais o professor se utiliza, apresentando, via
livro didtico, os contedos gramaticais do programa (mesmo que no parta de definies
de termos e categorias). Isso se apresenta como uma das justificativas para a escassez de
tempo destinado produo de texto.
Tomando como base as idias advindas do Programa de Investigao da Gramtica
Gerativa, denominada inicialmente de Gramtica Gerativa Transformacional, houve, por
parte de muitos professores, uma preocupao em adotar as bases de anlise dessa teoria
para a sala de aula5 , o que, de certa forma, foi criticado por muitos estudiosos, tendo em
vista no serem ensino e aprendizagem de lnguas o objetivo de tal teoria.
Por outro lado, partindo-se de uma viso socioconstrutivista, h abordagens que
enfatizam o trabalho a partir de textos em diferentes gneros e tipos, primando pela sua
diversidade produzida numa sociedade em funo de situaes concretas de uso pblico
da linguagem. Em conseqncia disso, no se usa mais o termo exerccio, procurando-se
outras denominaes como explorao, extrapolao, produo e gramtica textual6 ,
como podemos ver nos exemplos abaixo7:
Exemplo (4)
Explorao
1 Qual a idia principal do texto?
2 O autor defende um namoro inserido num contexto social. Enumere as expresses
que comprovam esta afirmao.
Extrapolao
Pea para seus pais ou avs relatarem como era o namoro no tempo deles. Compare
com as caractersticas de um namoro atual e escreva suas concluses.
Gramtica textual
Observe as conjunes e classifique as oraes subordinadas adverbiais.
(a) ...quando se oferece esse prato para uma pessoa da Sucia...
(b) enquanto os pases rabes e da Amrica Latina so mais proibitivos
5
Vale ressaltar que, nos livros didticos por ns pesquisados, no encontramos nenhum tipo de
exerccio baseado nos pressupostos tericos do Programa de Investigao da Gramtica Gerativa. O que
nos leva a inferir que tais exerccios ocorreram de forma acentuada quando do incio e efervescncia da
teoria Chomskyana. (Cf. ROULET, 1978).
6
A esse respeito ver tambm o que diz Marcuschi (2001, p. 51) a respeito dos diversos ttulos
(denominaes) dados sesso de compreenso dos livros didticos de lngua portuguesa.
7
Exemplos retirados do livro de CCCO, M.F.; HAILER, M. A. (1995, p. 35-36). Tais exemplos
giram em torno do trabalho com o texto Eroticidade, de PALCIOS, Z. Revista Mundo jovem. Rio
Grande do Sul, julho de 1986. Cf. pginas 3 e 4 fundamentao terica acerca do Socioconstrutivismo
apresentada pelos autores no item Orientaes para o professor.
135
CERQUEIRA Atividade versus exerccio: concepes tericas...
Produo
Crie um dilogo entre uma av (av) e sua neta (neto), a respeito do namoro.
Antes de iniciar o dilogo, faa a caracterizao das personagens.
O que podemos verificar, comparando esses exemplos, que h, nesses ltimos, uma
preocupao maior em levar o aluno a refletir (no que se refere ao item produo). Todavia,
o que podemos observar, apesar de a proposta se dizer socioconstrutivista, que h ainda
a valorizao da compreenso apenas enquanto capacidade de localizao da resposta no
texto, como se houvesse apenas uma idia principal. No se leva em considerao que o
aluno pode compreender o texto, tomando como relevantes vrios aspectos (eixos temticos)
sobre os quais o texto construdo e em torno dos quais so construdas as argumentaes.
ntida, ainda, no item gramtica textual, a nfase dada a contedos gramaticais, em
que solicitada a classificao das oraes subordinadas adverbiais a partir de frase
isolada de qualquer contexto lingstico e situacional. Isso parece contrariar qualquer
expectativa em relao ao ttulo dado seo: gramtica textual, uma vez que seria esperada
alguma discusso ou apresentao de atividades que tomassem como elemento de anlise
o texto e a textualidade, j que no mbito das gramticas de texto ou Lingustica Textual
que uma discusso dessa natureza se torna evidente.
Ainda dentro de um paradigma que leva em conta a diversidade de textos em diferentes
situaes de interlocuo, tem-se o que se denomina de abordagem sociointeracionista da
linguagem. Tal abordagem, ancorada nas postulaes de Vigotsky sobre linguagem e
aprendizagem, baseia-se no pressuposto de que a linguagem se constitui atravs da interao
entre os interlocutores e no de forma mecnica e descontextualizada. Logo, segundo tal
paradigma, sendo sujeitos que interagem, professor e aluno devem estabelecer, tambm,
condies para que a interao possa ser constante no processo de constituio da
linguagem. Vejamos alguns exemplos8 retirados de um livro didtico dito filiado a tal proposta:
Exemplo (5)
Exerccios
1 Quantas estrofes tem o Rock da cachorra?
2 Quem o autor desta cano?
3 Quais os instrumentos musicais utilizados na gravao?
4 A quem o Rock da cachorra dedicado? Copie o verso que contm essa resposta.
Apesar do rtulo de sociointeracionista, os exemplos acima apresentados parecem
no levar o aluno, pelo menos num primeiro momento, a desenvolver um trabalho em que se
possam ter a interao e a produo de textos como fundamentais. O que se v, ao contrrio,
um tipo de exerccio nos moldes tradicionais, cuja preocupao precpua a utilizao do
texto para verificao da habilidade do aluno em identificar segmentos especficos.
Todas as concepes de exerccios ou atividades que pudemos observar nos levam a
pensar que tais noes ainda no so to claras dentro de tais abordagens e que, por vezes,
8
Exemplos retirados do livro de TIEPOLO, E. V. et al. Linguagem e interao. V.7. Curitiba:
Mdulo, 1999.
136
Trab.Ling.Aplic., Campinas, 49(1), Jan./Jun. 2010
a noo de atividade tomada como exerccio e vice-versa. Tal fato nos leva a questionar
que se cada uma das abordagens apresentadas intenta ser eficiente e, ao mesmo tempo,
romper com propostas anteriores, isso no fica muito explcito na concretizao pedaggica
via livro didtico, o que nos leva a inferir, de certo modo, que, muitas vezes, parece haver
uma distncia entre o que o livro prope no prefcio e o que se apresenta nas unidades
subsequentes. Logo, isso nos leva a questionar tambm o discurso dos autores dos livros
didticos (de um lado revestido de uma terminologia reconhecida dentro dos estudos
lingsticos e da linguagem) e a consecuo de suas propostas no plano didtico. Isso
parece, por sua vez, mostrar a necessidade de tais autores terem um argumento do lado da
Lingstica, da Psicologia e da Pedagogia, para o convencimento de que suas propostas
caminham para uma mudana ou que j a alcanaram.
3. ATIVIDADE OU EXERCCIO EM SALA DE AULA?
Com base na distino que estabelecemos entre atividade e exerccio, vejamos como
se deu o trabalho de produo escrita em sala de aula de lngua portuguesa em uma turma
de 8 srie do Ensino Fundamental de uma escola da rede pblica estadual de Macei.
Em aula do dia 17 de setembro de 2001, com cerca de 27 alunos presentes, tem-se o
trabalho metalingstico da professora ao explicar para os alunos a constituio do gnero
textual requerimento. A docente inicia sua explicao dando informaes acerca da
macroestrutura e da funo social de um requerimento, solicitando, em seguida, que os
alunos produzam um texto, em conformidade com os critrios por ela j apresentados, como
podemos verificar nos seguintes trechos transcritos9 :
P: cs viram... :: que uns pedacinho aqui/ que ele fala aqui, que tem que alertar bem, bem
objetivo; tem que ser bem objetivo e conter/ ser objetivo quer dizer... s o NECESSRIO...
Eu coloco s aquilo que vai mesmo...pedir sem arrodeios nenhum. Ento, o objetivo nesse
sentido aqui claro...Ento, ele tem que conter dados pessoais do requerente (...)
(...)
P: agora faam vocs agora um requerimento
Val: professora, sei no
P: oxente...vocs tem o modelo faa vocs um... oh/ pedindo para pra fazer uma prova de
recuperao de:: biologia ou de matemtica tambm ou de:: fsica de qumica... Est ela
((referindo-se aluna Val)) t...batendo na porta do:: mdio, n? A de qualquer maneira j d
qumica, fsica, biologia
9
As normas de transcrio adotadas na presente pesquisa foram adaptadas pelo Grupo de Pesquisa
Ensino e Aprendizagem de Lnguas, coordenado pela Profa. Dra. Rita Zozzoli, a partir das convenes de
Marcuschi (1986) e correspondem a: 1) ...= qualquer tipo de pausa por hesitao ou nfase (pausas no
sintticas); 2) sinais de pontuao para pausas sintticas; 3) - = silabao; 4) :: prolongamento de vogal e
consoante; 5) / = corte de uma unidade pelo falante que detm o turno ou por um outro; 6) (XXX) =
incompreenso de palavras ou segmentos; (( )) = comentrios de transcrio; 7) (...) = transcrio
parcial; 8) LETRAS MAISCULAS = insistncia, nfase em fonema, palavra ou segmento; [ ] = falas
simultneas; 9) palavras em itlico = termos sobre os quais se discute, termos citados; 10) P = professor;
11) E = entrevistador (a); 12) Obs. = observadora; 13) A = qualquer aluno no identificado; AA = alunos
no identificados (Cf. ZOZZOLI, 1999, p. 12). Vale dizer que, no caso de nossa pesquisa, utilizamos a
inicial ou as iniciais dos nomes dos alunos quando da realizao da entrevista, bem como nas aulas
transcritas, quando da possibilidade de identificao dos alunos.
137
CERQUEIRA Atividade versus exerccio: concepes tericas...
AA: ::
P: matemtica pesadinha (XXX) tragam amanh quem tiver todo certinho eu boto aqui um
pontinho na caderneta
Apesar de falar durante toda a aula da importncia de saber fazer um requerimento, a
professora termina por limitar a funo social desse gnero ao espao escolar10, ou seja,
refere-se ao requerimento sempre como um gnero de texto do qual o aluno ir se beneficiar
apenas na escola, no considerando que os textos tambm so utilizados na sociedade em
espaos diversificados. Isso confirma o que dizem Marcuschi & Cavalcante (2005) a respeito
do tratamento dado aos gneros textuais em sala de aula, que acaba se reduzindo a uma
prtica de redao. Para as autoras,
essas redaes, por serem desenvolvidas a maneira de determinado texto, so por ns
categorizadas como mimticas, pois imitam gneros de circulao social, sem todavia
conseguirem preservar a funo scio-comunicativa do espao de circulao original, que
substituda pela funo pedaggica. (MARCUSCHI & CAVALCANTE (2005, p. 244)
Vejamos, ento, um dos textos produzidos a partir do que foi solicitado pela professora:
Benedito. Sr. Professor do colgio Afrnio
XXXXXX da Silva, aluna regularmente matriculada na 8 srie A do Ensino
Fundamental deste Colgio, perodo matutino, solicito que o senhor faa a prova
de recuperao pois faltei porque estava doente de papeira.
Nestes termos,
pede deferimento
Macei, 17 de setembro de 2001
XXXXXX da Silva
Baseados na distino que estabelecemos entre atividade e exerccio, podemos dizer
que o texto em anlise apresenta indcios que tendem mais ao exerccio do que atividade,
sendo cobrado do aluno como verificao de sua aprendizagem acerca do gnero textual
em questo. Isso se explica pelo fato de os alunos apenas substiturem, na maioria das
vezes, os dados pessoais, deixando, em muitos casos, a mesma justificativa, o mesmo tipo
de destinatrio e o mesmo pedido. No texto acima apresentado, vimos que a aluna acata,
exatamente, a sugesto da professora, ao fazer uma solicitao para fazer uma prova de
recuperao. notrio ainda que a aluna no se atenta para o fato de que o gnero
10
lares 2.
138
Schneuwly & Dolz argumentam em torno da existncia de gneros escolares 1 e gneros esco-
Trab.Ling.Aplic., Campinas, 49(1), Jan./Jun. 2010
requerimento comumente apresentado em terceira pessoa, como podemos perceber atravs
do uso que ela faz do verbo solicitar, empregado em primeira pessoa, contribuindo para o
estabelecimento de uma incoerncia com o incio do texto.
Nada do que foi mencionado objeto de reflexo na sala de aula. Logo, o que
observamos com a prtica acima mencionada corrobora o que diz Ilari (1986) acerca do
exerccio de redao em sala de aula, ou seja, que a produo tem servido, muitas vezes
como um ajuste de contas cujo objetivo levar o aluno aprendizagem de contedos
gramaticais, sem que qualquer trabalho de reescrita seja contemplado.
Somando-se a isso, podemos destacar, ainda, o fato de ser a professora a nica leitora
dos textos dos alunos, tendo como principal objetivo atribuir-lhes uma nota. Isso pode ser
visto em seu discurso ao dizer que colocar um pontinho na caderneta para quem trouxer
todo certinho. Conforme Britto (1984, p. 113), dentro da situao escolar existem relaes
muito rgidas e bem definidas. O aluno obrigado a escrever dentro de padres previamente
estipulados e, alm disso, o seu texto ser julgado, avaliado. O professor, a quem o texto
remetido, ser o principal talvez o nico leitor da redao.
A produo escrita do aluno, mais uma vez, parece no ter nenhuma funo social, e
este aparece no como sujeito de suas produes e de sua aprendizagem, tendo em vista
que no observamos qualquer forma de compreenso responsiva ativa por parte do aluno.
No que se refere escrita de uma receita, nas aulas do dia 23 de outubro de 2001,
alegando ser uma gincana de natureza interdisciplinar, a professora pede aos alunos que
elaborem uma receita de magias (simpatias), a qual exigir dos alunos conhecimentos em
relao a todas as disciplinas. No que se refere lngua portuguesa, a professora diz que os
itens a serem analisados sero em relao ortografia, para os alunos no cometerem
erros. Vejamos o trecho abaixo:
P: (...) agora...agora como vai ser essa receita? Voc coloca/ copia... a turma copia sem erro...
que ns/ porque a comisso vai julgar os erros de portugus... ortografia, TUDO... que num
s dizer um quilo de::, uma pitada de sal e colocar sal com U; se colocar sal com U j perde/
que muita gente escreve sal com U, n? Ento como muita gente escreve errado, ento vo
julgar ORTOGRAFIA e os erros de portugus, porque se vai valer tem que est corretamente
certo. Voc escrever, passar, a limpo, combinar (...)
Vejamos uma das produes:
Receita para atrair mulher bonita
ingrediente:
500 gramas de couro de sapo.
500 ml de leo de baleia.
2 perna de sapo.
5 plos de gato preto.
2 olhos de boi.
1 copo de leite de cachorra.
139
CERQUEIRA Atividade versus exerccio: concepes tericas...
modo de fazer
Junte tudo no liquidificador e bata, penere, com uma penera fina, liquido e
deixe descansar por um dia.
modo de usar
tomar dois dedo por dia durante 13 dias. e esperar o resultado.
Disso, o que podemos compreender, subjacente ao discurso da professora em relao
ao gnero textual exigido do aluno, que, tanto para ela quanto para os professores
avaliadores da referida gincana, o que se apresenta como mais importante nas produes
dos alunos a ortografia.
Apesar disso, observamos que o trabalho com o gnero receita, em comparao com
o anterior (requerimento), possibilitou aos alunos expressarem um pouco mais de sua
criatividade, como podemos verificar atravs das escolhas temticas e das construes por
eles produzidas. Isso nos leva confirmao de que os alunos conseguem ser criativos
quando lhes so dadas condies para produzirem, levando-se em conta temas de interesse,
que despertem neles o gosto pela novidade.
Dessa forma, podemos dizer que, embora os critrios de avaliao da professora
privilegiassem a forma, a grafia dos textos dos alunos, suas produes (as receitas) estiveram
voltadas mais atividade, talvez porque o tema lhes despertasse algum tipo de interesse,
alm do fato de a participao na gincana em si j ser um elemento motivador.
4. POR UMA ABORDAGEM CENTRADA NA NOO DE ATIVIDADE: ALGUNS
ENCAMINHAMENTOS
Considerando toda a anlise feita acerca do trabalho com a produo escrita em sala
de aula de lngua portuguesa no mbito da escola observada, faz-se necessrio apontar
alguns encaminhamentos que possam contribuir, ainda que minimamente, para a melhoria
do processo de ensino e aprendizagem de lngua portuguesa na escola fundamental. de
considerar que no se trata aqui de tentar postular receitas de como tornar o ensino mais
eficaz, mas apenas delinear alguns caminhos, os quais, diga-se de passagem, j figuram h
muito tempo nos estudos da linguagem (FRANCHI, 1987; GERALDI, 1984; ILARI (1986),
PCNs (1998), dentre outros).
Em primeiro lugar propomos que o professor tenha em mente a distino entre o
conhecimento lingustico que o aluno j possui antes de chegar escola e o conhecimento
da nomenclatura gramatical que ir adquirir por meio do ensino metalingustico. Tal distino
ir culminar na compreenso do que vem a ser a anlise lingustica. Segundo Franchi, tal
prtica pressupe pelo menos trs etapas, quais sejam: atividade lingustica, atividade
epilingustica e metalingustica.
Partindo da atividade lingustica, ou seja, do conhecimento internalizado que o aluno
possui sobre sua lngua, o professor abrir caminho para que venha tona toda a criatividade
lingustica dos alunos, considerando assim todas as possibilidades de produo lingustica
140
Trab.Ling.Aplic., Campinas, 49(1), Jan./Jun. 2010
por meio de textos em diferentes gneros e tipos. Conforme propem os Parmetros
Curriculares Nacionais (1998), deve-se dar espao para que o aluno utilize todo o seu
conhecimento sobre as regras da lngua, fazendo uso de sua prpria variedade lingustica.
Tomemos como exemplo o trabalho com o gnero textual carta pessoal. Uma maneira profcua
de problematizar a importncia desse gnero em sala de aula estabelecer uma comparao
com o gnero e-mail. Mostrar que existem semelhanas e diferenas entre um e outro, e que
cada um atende a propsitos comunicativos especficos, alm, claro, das diferenas entre
estilo formal e informal. Deve-se considerar tambm que o aluno tenha de fato algo a dizer,
para quem dizer, de forma que o trabalho com tal gnero textual venha a fazer sentido para
sua vida prtica.
Criadas as condies pragmticas adequadas para que o aluno produza tal gnero,
sero trabalhadas, em seguida, as possibilidades lingustico-discursivas de que o aluno
dispe para refazer o seu texto quantas vezes se faa necessrio. Eis o trabalho de reflexo
sobre a prpria lngua, isto , o trabalho de atividade epilingustica. Ao invs de servir
como corretor do texto do aluno, apontando sempre aquilo que est em desacordo com
as regras prescritivas da Gramtica Normativa, o professor ir atuar como orientador na
reescrita do aluno. O seu trabalho consistir em apontar estratgias de refaco do texto em
todos os nveis de anlise que julgar necessrio, trabalhando, assim, como uma espcie de
catalizador das dificuldades dos alunos.
Por ltimo, mas no menos complexa, dever ser abordada a atividade metalingustica,
a qual consiste na capacidade de falar sobre a prpria lngua utilizando-se, para isso, a
nomenclatura gramatical. o momento de tentar falar com propriedade sobre o conhecimento
implcito que os alunos j dominam inconscientemente. Nesse espao, so bem-vindas as
formulaes de regras, discusso de termos e conceitos gramaticais para que se possa
chegar a uma sistematizao de tudo o que foi aprendido e, inclusive, questionar as possveis
contradies apresentadas pela Gramtica Normativa.
5. CONSIDERAES FINAIS
Diante do que foi observado, podemos dizer que o trabalho com a produo escrita
em sala de aula de lngua portuguesa esteve voltado, na maioria das vezes, ao exerccio,
tendo em vista um fim especfico, desarticulado, muitas vezes, de uma funo social mais
ampla, bem como desarticulado da perspectiva de conceber os alunos como sujeitos
produtores de textos para agir no mundo, para ser cidados de suas aes (ZOZZOLI,
1998, p. 199).
Verificamos, ainda, que no se trata apenas de uma atitude didtica por parte da
professora, como se a ela (enquanto sujeito individualista) pudessem ser atribudas todas
e quaisquer responsabilidades pelo fracasso escolar. O que pudemos observar que,
dentre tantas questes, no se tem investido na formao continuada do professor, no se
tem questionado, muitas vezes, a articulao teoria-prtica to necessria ao espao de
sala de aula.
Disso, portanto, conclumos que muito ainda h por fazer quando se trata de
problematizar o ensino da lngua portuguesa na escola, sobretudo em relao prtica de
141
CERQUEIRA Atividade versus exerccio: concepes tericas...
produo textual, considerando-se que no apenas o papel do professor e do aluno so
indispensveis, mas que todos os elementos constituintes do processo de ensino e
aprendizagem devem ter um lugar importante, devendo ser concebidos em toda a sua
totalidade e complexidade.
___________________________
REFERNCIAS BILIOGRFICAS
BAKHTIN, M. (1986). Marxismo e filosofia da linguagem. So Paulo: Hucitec.
BRITTO, L. P. L. (1984). Em terra de surdos-mudos: um estudo sobre as condies de produo de textos
escolares. In: GERALDI, J. W. (Org.). O texto na sala de aula. 2 ed. Cascavel: Assoeste.
CCCO, M. F.; HAILER, M. A. (1995). ALP Anlise , linguagem e pensamento: a diversidade de textos
numa proposta socioconstrutivista: lngua portuguesa. V. 8. So Paulo: FTD, 1995. p. 35-36.
DIONISIO, A. P.; BEZERRA, M. A. (Orgs.). (2001). O livro didtico de portugus: mltiplos olhares. Rio
de Janeiro: Lucerna.
FARACO, C. A. (1984). As sete pragas do ensino de portugus. In: GERALDI, J. W. (Org.). O texto na sala
de aula. 2. ed. Cascavel: Assoeste.
FARACO & MOURA. (2002). Linguagem nova. Vol. 8. 1 ed. So Paulo: tica. p. 153-155.
FRANCHI, Carlos. Criatividade e gramtica. Trabalhos em lingstica aplicada, Campinas,UNICAMP/
Instituto de Estudos da Linguagem, n. 9, p. 5-45, 1987.
GERALDI, J. W. (1997). Da redao produo de textos. In: CHIAPINI, L. (Coord. geral). Aprender e
ensinar com textos de alunos. v. 1. So Paulo: Cortez.
_______. (1996a). Convvio paradoxal com o ensino da leitura e escrita. Cad. Est. Ling., Campinas,
(31): 127-144, jul./dez.
_______. (1996b). Linguagem e ensino: exerccios de militncia e divulgao. Campinas, SP: Mercado
de Letras.
_______. (1993). Portos de passagem. 4. ed. So Paulo: Martins Fontes.
_______. (Org.) (1984). O texto na sala de aula. 2 ed. Cascavel: Assoeste.
ILARI, R. (1986). A lingstica e o ensino da lngua portuguesa. 2. ed. So Paulo: Martins Fontes.
JESUS, A. T. de. (1998). O pensamento e a prtica escolar de Gramsci. Campinas, SP: Autores Associados.
LIBNEO, J. C. (1994). Tendncias pedaggicas na prtica pedaggica. In: LUCKESI, C.C. Filosofia da
educao. So Paulo: Cortez.
LUCKESI, C. C. (1994). Filosofia da educao. So Paulo: Cortez.
MARCUSCHI, B., CAVALCENTE, M. Atividades de escrita em livros em livros didticos de lngua
portuguesa: perspectivas convergentes e divergentes. In: MARCUSCHI, B., VAL, M.G.C. (Orgs.).
Livros didticos de lngua portuguesa: letramento e cidadania. Belo Horizonte: Ceale, Autntica,
2005, p. 237-260.
MACHADO, A. R.; BEZERRA, M. A. (Orgs.). Gneros textuais e ensino. Rio de Janeiro: Lucerna.
142
Trab.Ling.Aplic., Campinas, 49(1), Jan./Jun. 2010
MARCUSCHI, L. A. (2002). Gneros textuais: definio e funcionalidade. In: DIONISIO, Angela P.;
_______. (1996). Exerccios de compreenso ou copiao nos manuais de ensino de lngua? Aberto,
Braslia, ano 16, v. 69, p. 64-82, jan./mar.
_______. (2001) Compreenso de texto: algumas reflexes. In: DIONISIO, A. P.; BEZERRA, M. A. O
livro didtico de Portugus: mltiplos olhares. Rio de Janeiro: Lucerna.
ROULET, E. (1978). Teorias lingsticas, gramticas e ensino de lnguas. (Trad. Geraldo Cintra). So
Paulo: Pioneira.
SOARES, M. (1990). Portugus atravs de textos. V. 8. 3.ed. So Paulo: Moderna.
TRAVAGLIA, L. C., ARAJO, M.H. S. e PINTO, M. T. de F. A. (1984). Metodologia e prtica de ensino
de lngua portuguesa. Porto Alegre: Mercado Aberto.
ZOZZOLI, R. M. D. (Org.). (2002). Ler e produzir: discurso, texto e formao do sujeito leitor e
produtor. Macei: Edufal.
_______. (1999). O processo de constituio de uma gramtica do aluno leitor/produtor de textos: a
busca de autonomia. Trab. Ling. Apl., Campinas, (33): 7-21, Jan./Jun.
_______. (1998). Leitura e produo de textos: teorias e prticas na sala de aula. Leitura. Revista do
Programa de Ps-graduao em Letras, n. 21. Macei: Edufal.
Recebido: 07/02/2010
Aceito: 04/05/2010
143
Você também pode gostar
- Dororidade Vilma PiedadeDocumento34 páginasDororidade Vilma PiedadeNaiane Reis100% (4)
- História Da Avaliação PsicológicaDocumento28 páginasHistória Da Avaliação PsicológicaChristianaChagas95% (19)
- A5 - Comunicação Não ViolentaDocumento5 páginasA5 - Comunicação Não ViolentaMoisés DuarteAinda não há avaliações
- Livro Didático - Mário de AndradeDocumento5 páginasLivro Didático - Mário de AndradeNaiane ReisAinda não há avaliações
- Escrita, Uso Da Escrita e AvaliaçãoDocumento5 páginasEscrita, Uso Da Escrita e AvaliaçãoNaiane ReisAinda não há avaliações
- Documento-Educação-Infantil TocantinsDocumento110 páginasDocumento-Educação-Infantil TocantinsNaiane ReisAinda não há avaliações
- História Do Medo No OcidenteDocumento343 páginasHistória Do Medo No OcidenteNaiane Reis100% (1)
- 188Documento40 páginas188Naiane ReisAinda não há avaliações
- 2 - Caderno de Pesquisa Interdisciplinar em Ciências Humanas - Sobre o Conceito de Interdisciplinaridade - LEIS - 2005Documento23 páginas2 - Caderno de Pesquisa Interdisciplinar em Ciências Humanas - Sobre o Conceito de Interdisciplinaridade - LEIS - 2005guilhermecrochaAinda não há avaliações
- Revista Raído V 8 N 15Documento296 páginasRevista Raído V 8 N 15Naiane ReisAinda não há avaliações
- O Ensino Do Gênero Resenha Pela Abordagem Sistêmico Funcional Vian e IkedaDocumento20 páginasO Ensino Do Gênero Resenha Pela Abordagem Sistêmico Funcional Vian e IkedaNaiane ReisAinda não há avaliações
- LINGUA PORTUGUESA Revisada 06 Mar 2023Documento58 páginasLINGUA PORTUGUESA Revisada 06 Mar 2023Rogeria Ricardo SuzanoAinda não há avaliações
- Sexualidade e Educação Infantil Texto 05Documento13 páginasSexualidade e Educação Infantil Texto 05Camila NogueiraAinda não há avaliações
- Suma TeológicaDocumento20 páginasSuma TeológicaGuilherme Messias Pereira LimaAinda não há avaliações
- Educação Das Pessoas Surdas - SchreibenDocumento196 páginasEducação Das Pessoas Surdas - SchreibenKarine AlbuquerqueAinda não há avaliações
- Resposta Da ProvaDocumento10 páginasResposta Da ProvaLorena RochaAinda não há avaliações
- A Musicalização No Processo de Ensino-AprendizagemDocumento17 páginasA Musicalização No Processo de Ensino-AprendizagemÉrica Oliveira100% (1)
- Mau Uso Do Grau Dos Adjectivos.: Governo Da Província Do BengoDocumento23 páginasMau Uso Do Grau Dos Adjectivos.: Governo Da Província Do BengoJay Klender Worses100% (1)
- Atividade Física e Esportivas para Pessoas Com Deficiência Visual PDFDocumento17 páginasAtividade Física e Esportivas para Pessoas Com Deficiência Visual PDFJoão VianaAinda não há avaliações
- Oratoria Rogeria GuidaDocumento2 páginasOratoria Rogeria GuidaSergio KrugAinda não há avaliações
- Apresentação Treinamento de SensibilidadeDocumento10 páginasApresentação Treinamento de SensibilidadeMaria AparecidaAinda não há avaliações
- Análise Da Influência Da Liderança Nos Serviços Prestados Pelos Funcionários Do Serviço Distrital de Saúde Mulher e Acção Social de Chókwè.Documento51 páginasAnálise Da Influência Da Liderança Nos Serviços Prestados Pelos Funcionários Do Serviço Distrital de Saúde Mulher e Acção Social de Chókwè.Burailo Diogo100% (1)
- Inteligência ArtificialDocumento3 páginasInteligência ArtificialCrisleiAinda não há avaliações
- Resumo em Perguntas e Respostas - DESCARTESDocumento4 páginasResumo em Perguntas e Respostas - DESCARTESAfonso de Freitas Filipe (10 8)Ainda não há avaliações
- Comportamento Organizacional - Atividade de Pesuisa 01 Renato Dos Reis Abreu PDFDocumento2 páginasComportamento Organizacional - Atividade de Pesuisa 01 Renato Dos Reis Abreu PDFRenato AbreuAinda não há avaliações
- Estágio Supervisionado IIDocumento2 páginasEstágio Supervisionado IImarcus.moriAinda não há avaliações
- Livro CRPDocumento213 páginasLivro CRPilidiornevesAinda não há avaliações
- Texto ExpositivoDocumento9 páginasTexto ExpositivoCharles FavorAinda não há avaliações
- Didatica e Metodologia Do Ensino Da MusicaDocumento136 páginasDidatica e Metodologia Do Ensino Da MusicaBrenda100% (1)
- Encapsulamentos Semânticos em Perspectiva Discursivo FuncionalDocumento219 páginasEncapsulamentos Semânticos em Perspectiva Discursivo FuncionalMonclar Lopes100% (1)
- Orientacao 1Documento12 páginasOrientacao 1juhcosta9410Ainda não há avaliações
- Advérbios e CrônicaDocumento4 páginasAdvérbios e CrônicaJade RosasAinda não há avaliações
- A Importância Do Lúdico No Processo de AprendizagemDocumento16 páginasA Importância Do Lúdico No Processo de AprendizagemLiliane Maria SilvaAinda não há avaliações
- Autoestima Ou Auto-Estima - Pesquisa GoogleDocumento1 páginaAutoestima Ou Auto-Estima - Pesquisa Googleelvis fotosAinda não há avaliações
- Estudo Transversal VIIDocumento5 páginasEstudo Transversal VIIElyad Nunes100% (3)
- Manual Do Formando - Curso e - Learning Avaliação Neuropsicológica - Módulo IIDocumento31 páginasManual Do Formando - Curso e - Learning Avaliação Neuropsicológica - Módulo IIgabisilva140400Ainda não há avaliações
- TfouniLedaVerdiani - Adultos Alfabetizados o Avesso Do AvessoDocumento245 páginasTfouniLedaVerdiani - Adultos Alfabetizados o Avesso Do Avessobarbara GomesAinda não há avaliações
- Conceito de FilosofiaDocumento29 páginasConceito de FilosofiaMaria MariaAinda não há avaliações
- Manual Do InstrutorDocumento42 páginasManual Do InstrutorCarlos Guiar Neuhaus100% (1)