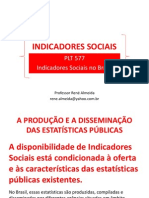Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
O Encontro Transformador em Moradores de Rua Na Cidade de São Paulo
O Encontro Transformador em Moradores de Rua Na Cidade de São Paulo
Enviado por
Thais SansoniTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O Encontro Transformador em Moradores de Rua Na Cidade de São Paulo
O Encontro Transformador em Moradores de Rua Na Cidade de São Paulo
Enviado por
Thais SansoniDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Psicologia & Sociedade; 16 (3): 47-56; set/dez.
2004
O ENCONTRO TRANSFORMADOR
EM MORADORES DE RUA
NA CIDADE DE SO PAULO
Aparecida Magali de Souza Alvarez
Faculdade de Sade Pblica da Universidade de So Paulo
Augusta Thereza de Alvarenga
Faculdade de Sade Pblica da Universidade de So Paulo
Nelson Fiedler-Ferrara
Instituto de Fsica da Universidade de So Paulo
RESUMO: Este trabalho busca a caracterizao do encontro transformador entre seis moradores de rua e
duas professoras na cidade de So Paulo. Este encontro possibilitaria a transformao psquica dos
envolvidos, no sentido de promover o despertar das potencialidades de self, do sentido de suas vidas,
contribuindo para a promoo da resilincia. resilincia, compreendida como a capacidade humana
de fazer frente s adversidades da vida, super-las e sair delas fortalecido ou inclusive transformado, foi
associada a noo do gape, amor ao prximo, articulado com conceitos de self e falso self . Neste estudo
longitudinal, o morar na rua surgiu como situao existencial excludente, favorecendo envolvimentos
com droga e criminalidade. Revelou-se nova configurao nas psiques dos moradores de rua - em movimento transformador - junto s pessoas que foram seus pontos de apoio positivos. No entanto, tiveram
dificuldades na permanncia nesse processo sem o apoio mais amplo da Sociedade Civil e Estado.
PALAVRAS-CHAVE: Encontro Transformador - Resilincia - Moradores de rua - Sade Pblica - Excluso
social.
THE TRANSFORMING ENCOUNTER IN HOMELESS PEOPLE IN SO PAULO CITY
ABSTRACT: This work aims to characterize the transforming encounter between six homeless people and
two teachers in the city of So Paulo. This encounter would enable the psychic transformation of the
people involved, promoting the awakening of the potentialities of the self, of the meaning of their lives,
and contributing to the promotion of resilience. Resilience is understood as the human capacity to cope
with lifes adversities, to overcome them and to become stronger or even be transformed because of
them. This was associated with the notion of agape, love for ones fellow humans, articulated with the
concepts of self and false self. In this longitudinal study, dwelling in the street emerged as an excluding
existential situation, favoring involvements with drugs and criminality. A new configuration in the
psyches of the homeless was revealed in a transforming movement , in contact with people who were
their positive supporting points. However, they had difficulties to remain in this process without the
broader support of the Civil Society and of the State.
KEY- WORDS: Transforming Encounter Resilience Homeless People Public Health Social exclusion.
INTRODUO
Este trabalho parte de pesquisa cujo problema de investigao se constituiu na busca da
caracterizao de uma interao psicossocial especfica entre os seres humanos, denominada de
encontro transformador, que possibilitaria a transformao psquica dos envolvidos, no sentido de
promover o despertar das potencialidades de self,
com a retomada do sentido de suas vidas, contribuindo para a promoo da resilincia. Ao conceito de resilincia, compreendido como a capacidade humana de fazer frente s adversidades da vida,
super-las e sair delas fortalecido ou inclusive trans-
formado (GROTBERG, 1996), e aprofundado por
Alvarez (1999, 2003), foi associada a noo de
gape definido como amor s outras pessoas humanas, amor ao prximo (BOLTANSKI, 1990). Essa
noo - articulada com outros conceitos - ser melhor explicitada em suas caractersticas em outras
sees deste artigo, sem a pretenso de esgotarmos sua complexidade. Aos conceitos referidos acima foram articulados os conceitos de self e falso
self.
A respeito do self e falso self Gilberto Safra
explicita que Winnicott traz a idia de um self central como potencial herdado pela criana que, j
47
Alvarez, A.M.S.; Alvarenga, A.T.; Ferrara, N.F. O encontro transformador em moradores de rua na cidade de So Paulo
desde o incio de sua vida, atravs de sua interao
com o ambiente, com o favorecimento deste estaria experimentando um senso de continuidade de
ser e adquirindo gradualmente, sua maneira e
em seu prprio ritmo, uma realidade psquica e
um corpo prprios. Completa o autor que esse perodo caracteriza-se pelo estabelecimento do self e
do mundo subjetivo (SAFRA, 1999). Safra relata
ainda que um indivduo, quando vivenciando situaes de adversidade, poderia desenvolver um
movimento onde reteria alguma coisa de pessoal,
mesmo um segredo, nem que seja o respirar. Desenvolveria um falso self que um aspecto do self
que protege e oculta o self verdadeiro como reao
s falhas de adaptao. O falso self organiza-se
como um padro de conduta que corresponde
falha ambiental (SAFRA, 1995:47).
Winnicott (1975) teorizou ainda a respeito de um conceito que estaremos introduzindo neste trabalho, ou seja, a respeito de uma rea de
desenvolvimento e experincias do ser humano que
denominou terceira rea ou espao potencial.. Essa
terceira parte da vida psquica do ser humano seria uma rea intermediria de experimentao para
a qual contribuem tanto a realidade interna do
indivduo quanto a vida externa, ou seja, o ambiente, o outro que o constitui. Ao abordar a dade
me-beb, essa me referida em muitos momentos de sua obra como o ambiente. Referindo-se,
portanto, inicialmente ao beb e sua me ao falar
da terceira rea, estendeu-a depois ao ser humano
adulto e utilizao que esse adulto faz desse espao potencial, denominando-o tambm como rea
do brincar.. Ao abordar essa rea, de importncia
central em seu pensamento, Winnicott afirma que
a psicoterapia se efetua na sobreposio de duas
reas do brincar, ou seja, a do paciente e a do
terapeuta, sendo que a psicoterapia trata de duas
pessoas que brincam juntas. Conclui que, onde o
brincar no possvel, o trabalho efetuado pelo
terapeuta dirigido no sentido de trazer o paciente para um estado em que no capaz de brincar
para um estado em que o (WINNICOTT,
1975:59). Reafirma, ainda, esse autor, que o brincar implica confiana e que este pertence ao espao potencial... (WINNICOTT, 1975:76).
Objetivava-se, neste trabalho, identificar as
caractersticas psicossociais constitutivas do processo de encontro transformador entre moradores
de rua envolvidos (ou no) com a criminalidade e
segmentos da sociedade civil considerados como
seus pontos fixos/pontos de apoio, que possibilitassem melhor compreenso do desenvolvimento
da capacidade de resilincia do ser humano. O
ponto-fixo/ponto de apoio, segundo Sueli
48
Damergian (1988) e aprofundado por Alvarez (1999,
2002, 2003), surge como um objeto bom que deve
ser oferecido ao ser humano pelo meio (no caso do
beb, pela me ou substituta). Sem isto, o ncleo
do ego no se estrutura, a personalidade no se
desenvolve, a identidade no se constri. Podem
ser os portos seguros introjetados que auxiliam
na nova configurao do rumo, do sentido da vida.
Como Ultimate Objectif visava-se a contribuir para o (re)equacionamento das aes que buscam atender s populaes de rua e a (re)definio
de polticas pblicas, tendo em vista o amplo significado social que esta parcela da populao assume no contexto de metrpoles brasileiras,
notadamente a paulistana. Em estudo longitudinal, ao longo de cinco anos, de 1998 a 2002, atravs de Histrias de Vida, foram realizadas entrevistas abertas e semi-estruturadas, fotografias, registros em Dirio de Campo, coletas de desenhos e
artesanatos realizados pelos sujeitos de observao: seis moradores de rua, alguns ligados ao crime e consumo de drogas, e duas professoras aposentadas no moradoras de rua que estabeleceram relaes de ajuda a eles. Na interpretao
dos dados contemplou-se o emprego de conceitos
pertinentes a determinadas teorias da Psicologia,
Geografia, Antropologia, Sociologia, s abordagens
da Complexidade de Edgar Morin e da Sistmica,
na busca do dilogo entre diferentes disciplinas.
SITUAO EXISTENCIAL EXTREMA
Conhecemos os moradores de rua, sujeitos de observao deste trabalho, em 1998, quando estes estavam instalados em pequena praamaloca localizada no bairro da Bela Vista, no centro da cidade de So Paulo. Essa pequena praa
localizava-se em regio marcada pela presena de
bares, restaurantes, teatros e poderamos defini-la
como uma mancha de lazer, conforme o uso que
Magnani faz desse conceito, ao explanar sobre padres de uso e ordenao do espao urbano. Para
este autor, as manchas so reas contguas do
espao urbano dotadas de equipamentos que marcam seus limites e viabilizam - cada qual com sua
especificidade, competindo ou complementando uma prtica ou atividade predominante.
(MAGNANI, 2002:22)
Identificamos aquele grupo de seres humanos adultos vivendo situaes existenciais extremas. O nome maloca atribudo pelos moradores de rua de So Paulo a um modo especfico de
viver em grupos na rua, sem proteo aos prprios
corpos, embriaguez, mendicncia, exposio a violncias indicava o modo de vida que ali se desenvolvia, considerado por eles mesmos como pri-
Psicologia & Sociedade; 16 (3): 47-56; set/dez.2004
so difcil de sair. As relaes desenvolvidas entre
os componentes do grupo, o uso de drogas, o estado de abandono, de excluso, os empurravam para
baixo e cada vez mais para as sarjetas, sendo que
para alguns o trnsito pela droga notadamente o
crack e a criminalidade tornou-se quase
inexorvel. O sentimento da vergonha foi manifestado por eles, face situao em que viviam.
Ao discorrer a respeito dos sentimentos,
Erikson relata que os adultos -inclusive os aparentemente maduros e no neurticos - mostram-se
muito sensveis possibilidade de uma vergonhoso descrdito. Ao abordar a manifestao desse
sentimento esse autor coloca que a vergonha se
manifesta logo por um impulso de esconder o rosto ou de, no mesmo instante e lugar, afundar no
cho (ERIKSON, 1976:232).
Os moradores de rua observados revelaram,
inclusive, o sentimento de desconfiana na sociedade, nos provedores externos e na prpria capacidade para enfrentar suas necessidades e desejos
mais urgentes. Prosseguindo na anlise a respeito
dos sentimentos manifestados pelos sujeitos de
observao deste trabalho, refletimos sobre a advertncia de Erikson sobre a concepo errnea de
que o sentimento positivo de confiana seria uma
conquista, definitivamente alcanada em determinado estado. Tal autor afirma que os sentimentos
negativos (como a desconfiana bsica, por exemplo) so e continuam a ser durante toda a vida a
anttese dinmica dos positivos, apontando que a
personalidade trava combate continuamente com
os perigos da existncia, mesmo quando o metabolismo do corpo luta com a deteriorao
(ERIKSON, 1976:251). Ele explicita, ainda, que o
restabelecimento de um estado de confiana seria
o requisito bsico para a terapia.
Entendemos, face essa colocao, que
seria possvel ser restabelecido/estabelecido - no
ser humano adulto com os quais trabalhvamos
na pesquisa - um sentimento de confiana de que
tenha sido frustrado na sua relao com a me/
cuidador, ou que tenha sido perdido como, por
exemplo, quando na situao de morador de rua.
Assim, alguns dos sujeitos de observao,
recordando a prpria infncia, denunciaram a ausncia de me ou pai devotados que pudessem
ampar-los em sua trajetria infantil. Sovitico, um
dos moradores da maloca, crescendo sem os pais
pois estes haviam cometido crimes e estavam cumprindo penas em Penitencirias e entregue prpria sorte, iniciou-se cedo na vivncia das transgresses, em busca da prpria sobrevivncia. Com
vrias passagens pela FEBEM (Fundao Estadual
do Bem Estar do Menor), ao tornar-se adulto foi
para a priso, cumprindo 20 anos no Carandiru.
Ao sair do presdio, analfabeto, comeou a morar
nas ruas, instalando-se na pequena praa-maloca,
onde o conhecemos em 1998. Nessa mesma maloca
e ano conhecemos Athos que nos revelou detalhes
do ambiente em que vivera na infncia, inadequado para uma criana. Revelou-nos, ainda, os crimes que cometera, quando em brigas matou dois
moradores de rua.
Priscila, instalada em uma caverna perto
da maloca, buraco cavado prximo Avenida 23
de Maio, denuncia situaes de abandono e violncia na infncia. Identificamos nessa moradora
de rua a ausncia do ponto de apoio, da devoo
de uma me suficientemente boa.. Segundo
Winnicott, a me suficientemente boa - e neste caso
no precisaria ser necessariamente a prpria me
do beb - aquela que efetua uma adaptao ativa s necessidades de beb, adaptao que diminuiria gradativamente e cujo xito desses cuidados para com a criana depende da sua devoo e
no do jeito ou esclarecimento intelectual
(WINNICOTT, 1975:25). A respeito da devoo,
Gilberto Safra afirma que ao falar-se de me devotada, est se falando de uma me que no perde
de vista o ser de seu filho, contrapondo-se me
aflita que, apesar de possuir uma ligao bastante
intensa com o seu beb, acaba por coisific-lo, na
tentativa de aplacar sua prpria ansiedade e aflio (SAFRA, 1999:75). Essa devoo, segundo
Winnicott, tem a ver com a maternagem ou
maternagem suficientemente boa, que so aqueles
cuidados iniciais oferecidos pela me ou, ainda,
pelo pai e demais familiares, essenciais formao
do indivduo (WINNICOTT, 1988).
A moradora da casa caverna, maltratada
pelo pai bbado e sem conhecer a me, aponta o
momento em que inicia sua vida de criana de
rua: A eu fiz uma mochilinha e sa de casa pro
mundo... Seu companheiro Paraba, em liberdade
condicional, desempregado e eventualmente guardando carros, e vivendo com ela na casa caverna,
desespera-se com a lembrana da me morta, odiando e acusando o pai de ser o causador das desditas da me. Em uma briga pelo ponto de guardar carro, mata outro morador de rua e volta para
a priso.
A CIDADE CINDIDA E AS PONTES HUMANAS:
PROVIDNCIAS DE TRNSITO RELACIONAL
A cidade de So Paulo foi considerada em
nossa pesquisa como portadora das caractersticas
de cidade de muros citada por Caldeira (2000:320),
que denuncia, no concreto, a imensa fratura
relacional que se alarga e se aprofunda entre as
49
Alvarez, A.M.S.; Alvarenga, A.T.; Ferrara, N.F. O encontro transformador em moradores de rua na cidade de So Paulo
duas sociedades que vo emergindo no social brasileiro: de um lado, o segmento social dos integrados, com melhores, mais justas e corretas relaes
sociais (VRAS, 2001:38), relaes essas cuja
vivncia pode ser nomeada por cidadania, e do
outro o segmento social dos excludos, com direito
excluso integrativa, vil insero marginal s
sobras do banquete dos eleitos da cidade cindida.
Sovitico revela em sua fala e desenho, denominado por ele Condomnio de luxo, a ciso entre
essas duas sociedades e as conseqncias desse
processo em pessoas que, como ele, integram o lado
dos excludos:
Sbado, eu e uns moleques, a gente passava por um condomnio de luxo num bairro de
So Paulo e ficamos parados, olhando e admirando, vendo uma coisa que a gente nunca viveu. Fomos ento abordados pela polcia, mandando a
gente cair fora. Em vez de oferecerem um prato de
comida ou conversar um pouco, mandam cair
fora... No queremos esmola, queremos um pouco de compreenso. Apesar de tudo isso que as
pessoas tem: apartamento de luxo, piscina, perua
pra levar os filhos na escola, a gente sabe que eles
lutaram, mas tiveram um apoio melhor que justamente o que falta para ns. Se o Brasil no tiver
conscincia, vai chegar o tempo que aquele que
for honesto e trabalhador no poder andar na rua.
Ento esta a hipocrisia. So pessoas que tm condio de ajudar o prximo mas no se interessam.
Eu no pintei esse desenho porque a realidade
da vida. tudo negro. Na rua, por exemplo, as
pessoas andam assustadas. Todos tm medo e at
atravessam a rua de medo de ser assaltadas. Ningum confia em ningum. Se a gente olhar um
pouco mais para algum, a pessoa fica assustada,
pensando que vai ser assaltada. (Sovitico, morador de rua)
Muitos dos moradores de rua, os cados
(VIEIRA ET AL., 1994) pertencentes a esse segmento social de excludos, perderam-se de si mesmos.
Junto s perdas de endereos, certides de nascimento, carteiras de identidades - smbolos de cidadania - entrecruzam-se as perdas de esperana,
do sentido da vida, da vontade de viver. Enquanto
alguns se afogam na bebida alcolica ou nas drogas, amortecedoras da dolorosa agonia da falncia psicossocial, outros, reagindo violentos, lanam-se ao crime, inserindo-se atravs dessa forma
escusa nos processos sociais. S ento, ironicamente, tornam-se visveis... e porque incomodam, porque agridem, porque ousaram sair das cavernas,
ou porque ousam abrir os olhos e cobiar os valiosos bens de consumo que ornamentam a cidade
atrs dos muros. quando, paradoxalmente, ad50
quirem um status - o de bandido! - aquele que
dever ser banido, segregado aos espaos amontoados das prises. Ironicamente, nessa hora, recobram o endereo e a identidade do pronturio policial...
A sociedade est doente, cindida, e no
h perspectiva de cura prxima. Os meios de comunicao brasileiros exibem a todo momento ao vivo e em cores, em tempo real - a dinmica
doentia desse corpo social esfacelado. Esses retratos dinmicos so oferecidos nos jornais nacionais
televisivos como parte dos jantares de cidados que
olham tudo atnitos e respiram aliviados quando
o foco da emissora passa para cenas mais amenas.
Teresa Cristina Carreteiro (1999), abordando a
questo das drogas, violncia e segmentos sociais
precrios do Rio de Janeiro, aponta para os mecanismos de defesa psquicos ativados para fazer face
s angstias constantes. So mecanismos que, segundo ela, permitem a justificao e racionalizao das condutas daqueles que esto sob presso
dessas angstias. Afirma a autora que os mecanismos acionados so principalmente os de negao,
isto , a distoro da realidade quando ela se apresenta muito violenta com pessoas que no fazem
parte do crculo parental ou de amigos; a clivagem
das representaes: A violncia acontecer contra os outros, no comigo!. Como se a fora desses pensamentos pudesse criar uma camada protetora em torno das famlias e dos grupos. Observase tambm a represso das emoes, a eufemizao
da violncia (quando nomeiam uma pessoa assassinada como presunto, por exemplo, amenizando
e banalizando o ato de sua morte, que assim tanto
faz que tenha acontecido pela mo da polcia ou
das faces criminosas ligadas ao trfico de drogas). Esses mecanismos de defesa so individuais
mas igualmente coletivos, pois permitem s pessoas na mesma situao ativarem reaes semelhantes que coloquem distncia as fontes da ansiedade (CARRETEIRO, 1999:121-130).
No entanto, se muitos da sociedade intramuros referida por Caldeira (2000:320) encontramse adormecidos para os problemas psicossociais que
se avolumam ou permanecem paralisados pelo
medo, h segmentos da sociedade que conseguem
marcar presena junto aos que perderam o sentido
da vida. Neste trabalho falamos de alguns destes
que se erigiram como pontos-fixos/pontos de apoio,
pontes humanas que - transpassando abismos
relacionais - levam ao que nomeamos como encontro transformador. quando presenciamos a professora Slvia intermediando a correspondncia
entre a moradora da casa caverna, que estava hospitalizada pela tuberculose avanada e o seu com-
Psicologia & Sociedade; 16 (3): 47-56; set/dez.2004
panheiro Paraba, que ficara vivendo na toca de
ambos. quando, tambm, acompanhamos o depoimento de Lucinha que - muito alm do simples
ofcio de professora - devotada e desafiadora, oferecia o endereo de sua residncia para que o morador de rua - candidato a um trabalho - apresentasse empresa como sendo dele.
A TRANSFORMAO:
CONFIGURANDO NOVA FORMA
Progredir, no caso da constituio da
vida psquica mas tambm em qualquer outro caso, implica organizar-se,
conquistar formas e transformar-se
(LUS CLUDIO FIGUEIREDO,
2001)1 .
Convidados por Slvia e Lucinha, para comparecerem escola onde elas alfabetizavam as
populaes de rua, no centro da cidade de So
Paulo, alguns dos moradores de rua viveram processos de encontros transformadores com essas professoras.
Foi considerada, no incio desse processo,
a presena de certa unidade psquica, por exemplo, em Sovitico e Athos, que lhes permitira a
sobrevivncia nas prises e nas ruas: um falso self
bastante bem sucedido.
No entanto, apesar do sucesso dessa configurao psquica dos moradores de rua - do falso
self - no se extinguira neles a insatisfao e a
procura de si-mesmos. Era necessrio o
restabelecimento do sentimento positivo de confiana para que pudessem olhar-se, permitindo assim que o self pudesse retomar seu acontecer dentro do processo maturacional com a facilitao de
um meio ambiente humano (SAFRA, 1999). Suas
potencialidades estavam espera do outro significativo ou prximo devotado (WINNICOTT, 1975)
que pudesse acompanh-los no processo de autorealizao.
Aborda ainda Safra a experincia do fenmeno do potico que seria aquele que articula, em
um nico fenmeno, a capacidade criativa dos seres humanos que se encontram, dando origem
comunicao humana, ao existir (SAFRA, 1999:20).
Segundo esse autor, poderamos afirmar que s
conhecemos de maneira significativa a poro do
mundo que conseguimos criar (SAFRA, 1999:44).
No aprofundamento do conceito winnicottiano de devoo, trabalhamos com o conceito
de gape (BOLTANSKI, 1990), cujas caractersticas identificamos na professora Slvia. A acepo
de gape que concerne mais diretamente pesquisa de Boltanski e que segundo ele interessa Antropologia - e que adotamos em nosso constructo
terico - o amor s outras pessoas humanas,
definido como o amor ao prximo.
(BOLTANSKI,1990:171). Afirma o autor que o
gape entre os homens no se limita comunidade eclesial, pois ele tem por vocao manifestarse em presena de no importa qual pessoa, qualquer que seja a maneira pela qual ela poderia ser
qualificada em outras relaes. nesse sentido que
essa noo disponvel para a Antropologia.
(BOLTANSKI,, 1990:171). Ressaltamos, portanto,
que ao adotarmos tal conceito no estamos fazendo apologia s religies. Ao abordarmos o gape
no Complexus (Morin, 1996)2 de nossa tecedura
terica, alinhamo-nos ao pensamento de Boltanski
ao afirmar que a operao de laicizao do gape
advm de uma pura deciso de mtodo, no se
inscrevendo ela em uma teoria sociolgica da religio. (BOLTANSKI,, 1990:154). Assim, ao associarmos o amor gape ao conceito de amor devoo
da me suficientemente boa, visamos a melhor caracterizar esse conceito de amor materno que
estamos usando em nosso constructo terico.
A professora Slvia, portanto, foi reconhecida como esse prximo devotado, portadora do
amor s outras pessoas humanas. Traduzindo esse
amor em movimento na busca e adaptao ativa
s necessidades do prximo, Slvia demonstrou a
capacidade de sair do prprio lugar de sua estrutura interna de referncia, do seu crculo estreito
de relacionamentos para colocar-se em presena
dos moradores de rua. Essa presena ativa,
emptica, congruente (ROGERS, 1991) aceitando-os tal qual se apresentavam, abrindo-lhes um
lugar em si-mesma, fez com que se sentissem incondicionalmente aceitos. Livres, sem cobranas,
eles confiaram naquela que se doava, abriram-se
para o movimento de transformao no espao da
confiana que se formara entre ambos, na
sobreposio de duas reas do brincar...
(WINNICOTT, 1975)
No Diagrama 1 est representado o encontro - explicitado acima - entre a professora portadora das caractersticas do gape, na sua busca e
adaptao ativa s necessidades do prximo, com
os moradores de rua.
51
Alvarez, A.M.S.; Alvarenga, A.T.; Ferrara, N.F. O encontro transformador em moradores de rua na cidade de So Paulo
Sob o influxo dessa aceitao, em presena da professora, beberam a fora que necessitavam para flexibilizar as amarras das psiques atormentadas, permitir que o caos organizador
(MORIN, 1997:59)3 se instalasse em seus mundos
interiores forjados no crime, no desespero. A forma do falso self de cada um dos moradores de rua
organizao complexa e ativa mas tambm dispositivo de congelamento iniciou um movimento de flexibilizao, de desconstruo de suas defesas no processo regressivo que se instaurara junto professora.
A respeito desse dispositivo de congelamento, Luiz Claudio Figueiredo afirma que o falso self
traz em si as marcas da frozen situation, da
sua rigidez, apesar de sua evidente operatividade.
Afirma ele que o indivduo mantido ao mesmo
tempo excessivamente acordado - impossibilitado, portanto, de dormir, de sonhar e brincar
em servio (no espao potencial, no espao da
brincadeira; grifo nosso) - e com partes suas totalmente amortecidas, dormentes, congeladas, em
estado de dissociao. Ser preciso desconstruir
as boas defesas do falso self oferecendo uma condio, j no mais sonhada nem desejada, de confiana no ambiente, e na possibilidade de
retomar a situao de fracasso para
descongel-la e convert-la em possibilidade
de vida (grifos nossos).4
As psiques dos moradores de rua permitiram o rever-se: seus contedos congelados, soltando-se, foram reconhecidos por aqueles que s
ento puderam olhar-se no bero gape ofertado
52
pela professora devotada.
Desse caos, lentamente, foi-se anunciando
nova gestalt, nova configurao psquica, nova ordem, organizao, transformao.
Na dana dos contedos esparsos das psiques do moradores de rua danavam, tambm, os
contedos do gape que a princpio RUDOS
(FIEDLER-FERRARA, 1994; ATLAN, 1992) num
dado instante comearam a fazer sentido para
aqueles que eram alvo da devoo: em presena
da professora, eles criaram o amor em si. Ocorreu
uma sobreposio entre o que a professora supria e
o que os moradores de rua poderiam conceber. Estes perceberam os elementos do gape apenas na
medida em que o gape poderia ser criado exatamente ali e naquele ento (parafraseando
WINNICOTT, 1975).
Nelson Fiedler-Ferrara explicita, a partir de
Henri Atlan (1992), a complexidade a partir do
rudo, em que a capacidade de auto-organizao
de um sistema resulta de desorganizaes seguidas de reorganizaes em nveis de complexidade
mais elevados. A criao de complexidade nutrese da desordem (rudo), onde o aleatrio passa a
ser parte integrante da organizao. (FIEDLERFERRARA, 1987: 75-79)
Sovitico anteriormente personificado no
mundo do abandono, da violncia e do crime
assim como Athos , ou Priscila mergulhados no
desespero e na violncia das ruas abriam-se
presena da professora-me, possibilitando o acontecimento de um novo corpo psico-emocional personificado atravs do processo que denominamos
de maternagem tardia. Expressando a comunicao ativa com novos contedos internos criados
em presena da professora devotada, expressaram
em seus discursos o incio de novas configuraes
emergentes em suas psiques, em movimentos que
se encaminharam para transformao nova forma, nova organizao resistindo muitas vezes ao
convite do crime.
No foram, no entanto, somente os moradores de rua que se transformaram nos processos
de encontros observados. Em cada busca ativa do
prximo que empreendia, Slvia cruzava o olhar
consigo mesma, vrias vezes caindo em si, refazendo caminhos onde no conseguira vivenciar a
plenitude do gape, as caractersticas desse amor
em movimento. Deter o fluxo desse amor em si
mesma, seria deter a prpria vida, o acontecer de
seu self no mundo. A partir do instante em que
ela, Slvia, criava nuanas desse amor em si - conhecendo-o de maneira significativa - deixar de
viv-lo a cada chamado equivaleria a deixar de
ser, de existir.
Psicologia & Sociedade; 16 (3): 47-56; set/dez.2004
E dizemos que os moradores de rua transformaram-se porque novos sentimentos, significados em presena da professora, passaram a fazer
parte de seus universos psquicos: iniciou-se intenso processo de comunicao interna em cada um
com as novas nuanas de sentimentos que descobriam em si. O crime quando ainda realizado
nesse processo de transformao em curso j no
acontecia livre e solto, sem nenhum outro estado
diferenciado que se lhe antepusesse. quando recolhemos expresses de lamento de Sovitico por
no ter conseguido manter-se na configurao do
amor, quando observamos movimentos
incipientes da vontade de resistir ao crime.
Acompanhamo-lo preso em sua batalha interna formidvel, tambm atravs dos desenhos que realizou nesse perodo, onde pudemos observar o interjogo de foras configurando a transformao, o
oscilar entre desiluso e esperana.
Tem uns parceiro que chamam pra roubar
e eu no vou roubar... t sossegado, quero dar um
tempo!... (Sovitico)
Nesse sentido, esses novos contedos internos de gape foram por ns considerados como
pontos de apoio que os alavancaram na resistncia criminalidade, no processo de estar no mundo, promovendo-lhes a resilincia.
A religiosidade compreendida por Jung
como funo natural inerente psique (JUNG,
1991:300) tambm foi vivenciada pelos moradores de rua observados como relevante aspecto no
processo de constituio do sentido da existncia,
como ponto fixo - ponto de apoio em suas psiques,
alavancando seus projetos de estar no mundo,
apontando um novo rumo para suas vidas atormentadas, favorecendo-lhes a resilincia.
Sovitico, por exemplo, fez aluses sua
religiosidade em diversos momentos (observados
ao longo dos cinco anos do processo da pesquisa),
como o registrado em um desenho e nos comentrios explicativos escritos ao lado do mesmo, produzidos durante uma aula ministrada pela professora Slvia aos moradores de rua:
Por que voc desenhou a casa e a igreja?, perguntou-lhe Slvia.
Porque esta era a vida que eu queria ter.
Minha casa onde eu pudesse ser feliz e com todos
vivendo em harmonia... A igreja era o lugar onde
ia me sentir bem e recebendo uma palavra
amiga...(Sovitico, morador de rua)
No seria a igreja de pedra5 qual ele se
referia: pelas ruas da grande cidade onde
perambulava, podia encontr-las muitas, enormes
igrejas adornadas, de portas quase sempre abertas
onde no entrava, conforme nos relatava em seus
discursos espontneos. Era outra sua igreja: associada palavra amiga, lembrava a harmonia, o
sentir-se aceito incondicionalmente, perto de Deus
como estava ali, perto de sua professora.
E ela com devoo, no processo de
maternagem (WINNICOTT, 1975), conduzia-o, a
si e seus companheiros durante os exerccios de
relaxamento ou durante as oraes ao final das
aulas, na vivncia daquela funo natural, inerente psique, self desdobrando sua potencialidade
no mundo. Banhava-os em amor - transfundindolhes a prpria f - que era criada e recriada por
eles, que imprimiam a este sentimento um rtmo,
uma realidade psquica e um corpo prprios (SAFRA, 1999). Destacamos ainda, para a anlise desse
processo, as palavras de Gilberto Safra que afirma
que a criatividade jamais destruda, estando na
origem do self a tendncia do indivduo para ...
permanecer vivo e de se relacionar com objetos que
aparecem no horizonte quando chega o momento
de alcan-los (SAFRA, 1999:34).
Marcos, morador de rua observado, manifestava tambm em sua fala estreita associao
entre sentimento de religiosidade e o acontecer do
seu self no mundo, o desabrochar de suas
potencialidades. Referiu-se tambm solidariedade humana de Slvia, apontando-a como a fora
que o auxiliou na retomada do sentido de sua vida.
Priscila, acometida de tuberculose, a moradora da
casa caverna - revela Deus em sua fala como a
ltima instncia qual poderia recorrer, apelando
a ele por providncias que no acreditava mais que
seriam tomadas pelo sistema poltico-social mais
amplo que a ignorava:
Porque de vez em quando me d uma loucura na minha cabea... (chorando) ... Eu no penso em fazer nada com ningum, sabe?... Eu no
tenho olho grande... eu no tenho inveja... eu s
queria ter o que MEU, entendeu? o que eu
sempre peo a Deus: que antes de eu morrer, que
ele me desse pelo menos um barraquinho, sabe?
Pra mim pr uma cama, uma mesa, um fogozinho
dentro... a eu falo: agora eu morro em paz, que
Deus me deu tudo que eu queria, um lar... (Priscila,
moradora da casa caverna)
No bastava o apoio dado pelas professoras devotadas - os prximos significativos Slvia e
Lucinha - sujeitos de observao do trabalho, ou
mesmo o ponto de apoio representado pela presena do sentimento de Deus em suas vidas, para que
a psique dos moradores de rua assumisse a estabilidade na resilincia, processo que se esboava em
cada um. Imersos no sistema social mais amplo
que os ignorava, faltavam-lhes tambm os pontos
de apoio do trabalho, do reconhecimento de seus
53
Alvarez, A.M.S.; Alvarenga, A.T.; Ferrara, N.F. O encontro transformador em moradores de rua na cidade de So Paulo
direitos de cidado, de poder ter um canto s seu uma casa, um lar - onde pudessem se manter, se
fortalecendo inclusive nos propsitos de no reincidncia na delinqncia.
SOCIEDADE CIVIL E ESTADO E
A PROMOO DA RESILINCIA
DO MORADOR DE RUA
Preocupamo-nos com a violncia que
mata, mutila e rouba. E no com a
violncia psquica, social, afetiva que
nos rodeia e anula o presente, roubando qualquer esperana de futuro para
milhes de criaturas (DAMERGIAN,
2001:103).
Afirmando ser a cidadania uma lei social
que atinge a todos indistintamente e, ainda, que
faz parte da mesma um conjunto de princpios
gerais e abstratos que se impe como um corpo de
direitos concretos individualizados (SANTOS,
1998:7), Milton Santos, em outro momento de seu
texto, argumenta que o simples nascer investe o
indivduo de uma soma inalienvel de direitos,
apenas pelo fato de ingressar na sociedade humana. Viver, tornar-se um ser no mundo, assumir,
com os demais, uma herana moral, que faz de
cada qual um portador de prerrogativas sociais.
Direito a um teto, comida, educao, sade,
proteo contra o frio, chuva, s intempries;
direito ao trabalho, justia, liberdade e a uma
existncia digna (SANTOS, 1998:7).
Refletindo a respeito dessas afirmaes sobre cidadania e os sujeitos de observao moradores de rua focalizados neste trabalho, os identificamos como no pertencentes aos quadros de
cidadania da sociedade brasileira. No lhes bastou o simples nascer no seio dessa sociedade para
que fossem investidos, de fato, de uma soma
inalienvel de direitos. Morando na rua, sem o suporte social, falta-lhes o essencial para uma existncia digna. Claramente podemos perceber que,
se existem cidados brasileiros investidos das prerrogativas sociais apontadas por Milton Santos,
outros brasileiros h e aqui no nos aventuramos em denomin-los como cidados que esto
margem dessa herana a que teriam direito. Com
exceo de um dos moradores de rua observados
neste trabalho, todos os outros - Sovitico, Athos,
Marcos, Priscila e seu companheiro Paraba - estiveram em algum momento de sua vida nas ruas
envolvidos com a criminalidade. Eles constituem
a face mais cruel e muitas vezes negada de uma
sociedade desigual.
No Diagrama 2 representamos os percursos entre os processos reconhecidos como coleti54
vos e outros singulares, visando a observar o conjunto da tecedura, o delineamento da organizao complexa que se foi configurando ao longo
desse trabalho.
As qualidades emergentes das relaes de
encontro com segmentos da sociedade que atuaram no sentido de amparar os moradores de rua,
serem seus pontos de apoio positivos, constatadas
neste trabalho, traduzem por si mesmas o mrito e
necessidade desse tipo de ao. No entanto, observou-se que os moradores de rua que retomaram o
acontecer do self, reassumindo o processo criativo,
no processo do encontro transformador com as professoras, tiveram dificuldades em manter a constncia das novas formas configuradas, manter a
transformao sem o apoio efetivo da Sociedade
Civil e do Estado. Faltavam-lhes os pontos de apoio
do trabalho, do reconhecimento dos seus direitos
de cidados, de poderem ter uma casa, um lar, de
viverem com dignidade, a qual implicava, tambm,
que fossem reconhecidos como seres humanos pelos outros cidados brasileiros e pelo Estado, na
sua responsabilidade na promoo de Polticas
Pblicas, norteadas por uma viso solidria de promoo do homem e justia social.
NOTAS
1
Comunicao proferida por Luiz Cludio
Figueiredo no curso de Ps Graduao em
Psicologia da Pontifcia Universidade Catlica, em
2001, So Paulo [mimeo].
2
Para Edgar Morin, Complexus o que est junto;
o tecido formado por diferentes fios que se
transformaram numa s coisa, isto , tudo isso se
entrecruza, tudo se entrelaa para formar a unidade
da complexidade; porm, a unidade do complexus
no destri a variedade das complexidades que o
teceram. (Morin, 1996:188).
3
O Caos organizador referido por Edgar Morin
Psicologia & Sociedade; 16 (3): 47-56; set/dez.2004
no sentido de um fenmeno de duas faces, em
que h ao mesmo tempo desintegrao e
organizao, criao/transformao. (Morin,
1997:59).
4
Comunicao proferida por Luiz Cludio
Figueiredo no curso de Ps Graduao em
Psicologia da Pontifcia Universidade Catlica, em
2001, So Paulo [mimeo].
5
Pretendemos deixar claro que no estamos
fazendo, neste trabalho, a apologia a esta ou quela
religio e sim registrando e analisando essa funo
natural inerente psique (Jung, 1991) que se
configurou no decurso do processo da pesquisa.
REFERNCIAS
ALVAREZ, A. M. S. A resilincia e o morar na rua:
estudo com moradores de rua criana e adultos
na cidade de So Paulo. So Paulo, 1999. Dissertao (Mestrado em Sade Pblica) Faculdade
de Sade Pblica, Universidade de So Paulo.
ALVAREZ, A. M. S. La rsilience et lhabitation dans
la rue: tude des habitants de rue enfants et
adultes dans la ville de So Paulo. In: DOUVILLE,
O.; SABATIER, C. (Ed.). Cultures, insertions et
sante. Paris: LHarmattan, 2002. p. 277.
ALVAREZ, A. M. S. Resilincia e encontro transformador em moradores de rua na cidade de So
Paulo. So Paulo, 2003. Tese (Doutorado em Sade Pblica) Faculdade de Sade Pblica, Universidade de So Paulo.
ATLAN, H. Entre o cristal e a fumaa: ensaio sobre
a organizao do ser vivo. Rio de Janeiro: Zahar,
1992.
BOLTANSKI, L. Lamour et la justice comme
comptences: trois essais de sociologie de laction.
Paris: ditions Mtaili,1990.
CALDEIRA, T. P. R. Cidade de muros: crime, segregao e cidadania em So Paulo. So Paulo:
Ed. 34/EDUSP, 2000.
CARRETEIRO, T. C. Effort de survie et habit
prcaire. In: DOUVILLE, O.; RIDEL, L. (Org.)
Exclusions, prcarits: tmoignages cliniques. Paris: LHarmattan, 1999. (Psychologie Clinique;
nouvelle srie n 7). p.121-130.
DAMERGIAN, S. O papel do inconsciente na
interao humana: um estudo sobre o objeto da
psicologia social. So Paulo, 1988. Tese (Doutorado em Sade Pblica) - Instituto de Psicologia,
Universidade de So Paulo.
DAMERGIAN, S. A construo da subjetividade na
metrpole paulistana: desafio da contemporaneidade. In: TASSARA, E. T. O. (Org.) Panoramas interdisciplinares para uma psicologia
ambiental do urbano. So Paulo: Educ/FAPESP,
2001. p.87-120.
ERIKSON, E. H. Infncia e sociedade. Rio de Janeiro: Zahar, 1976.
FIEDLER-FERRARA, N. Literatura e Complexidade. In: CASTRO, G.; CARVALHO, E.A. e ALMEIDA,
M.C.(Orgs.) Ensaios de Complexidade. Porto Alegre: Sulina, 1997. p. 75-89.
GROTBERG, E. H. Gua de promocion de la
resiliencia en los nios para fortalecer el espritu
humano. La Haya: Fundacion Bernard van Leer,
1996. (Informes de Trabajo sobre el Desarrollo de
la Primera Infancia, 18)
JUNG, C. G. A natureza da psique. Petrpolis: Vozes, 1991. v. 8/2.
MAGNANI, J. G. C. De perto e de dentro: notas
para uma etnografia urbana. Revista Brasileira de
Cincias Sociais, So Paulo, v. 17, n. 49, p. 11-29,
2002.
MORIN, E. Cincia com conscincia. Rio de Janeiro: Bertrand do Brasil, 1996.
MORIN, E. O mtodo 1: a natureza da natureza.
Portugal: Publicaes Europa-Amrica, 1997.
ROGERS, C.R. Tornar-se pessoa. So Paulo: Martins
Fontes, 1991.
SAFRA, G. Momentos mutativos em psicanlise:
uma viso Winnicottiana. So Paulo: Casa do Psiclogo, 1995.
SAFRA, G. A face esttica do self: teoria e clnica.
So Paulo: Unimarco Editora, 1999.
SANTOS, M. O espao do cidado. 4. ed. So Paulo: Nobel, 1998.
VRAS, M. P. B. Excluso social: um problema de
500 anos. In: SAWAIA, B. (Org.) As artimanhas da
excluso social: anlise psicossocial e tica da desigualdade social. Petrpolis: Vozes, 2001. p. 27-50.
55
Alvarez, A.M.S.; Alvarenga, A.T.; Ferrara, N.F. O encontro transformador em moradores de rua na cidade de So Paulo
VIEIRA, M. A. C; RAMOS BEZERRA, E. M.; MAFFEI
ROSA, C. M. Populao de rua: quem , como vive,
como vista. 2. ed. So Paulo: HUCITEC, 1994.
WINNICOTT, D. W. O brincar & a realidade. Rio
de Janeiro: Imago, 1975.
WINNICOTT, D. W. Os bebs e suas mes. So
Paulo: Martins Fontes; 1988.
Aparecida Magali de Souza Alvarez PsDoutoranda da Universidade de So PauloFaculdade de Sade Pblica.
O endereo eletrnico da autora :
apmagali@terra.com.br
Augusta Thereza de Alvarenga Docente da
Universidade de So Paulo-Faculdade de Sade
Pblica, Departamento de
Sade Materno-Infantil.
O endereo eletrnico da autora : atal@usp.br
Nelson Fiedler-Ferrara Docente do Instituto de
Fsica da Universidade de So Paulo.
O endereo eletrnico do autor :
ferrara@fge.if.usp.br
Aparecida Magali de Souza, Agusta Thereza
de Alvarenga e Nelson Fiedler Ferrara.
O encontro transformadorem moradores
de rua na cidade de So Paulo
Recebido dia 24/09/2004
1 reviso: 16/12/2004
Aceite final: 21/01/2005
56
Você também pode gostar
- Filosofia10 Lprofessor 2Documento48 páginasFilosofia10 Lprofessor 2lena2001100% (2)
- Gestão em Segurança PrivadaDocumento38 páginasGestão em Segurança PrivadaFabrício BorlotAinda não há avaliações
- Habitar A RuaDocumento239 páginasHabitar A Ruafdorado100% (4)
- Bilhete EletrônicoDocumento1 páginaBilhete EletrônicoADRIENNEAinda não há avaliações
- Feios Sujos e MalvadosDocumento23 páginasFeios Sujos e Malvadosapi-3727421100% (1)
- Um Delicado Equilíbrio Na Relação de AjudaDocumento1 páginaUm Delicado Equilíbrio Na Relação de Ajudaapi-3727421100% (1)
- Idoso em Situação de RuaDocumento10 páginasIdoso em Situação de Ruaapi-3727421100% (2)
- Relatório MDS Pop RuaDocumento16 páginasRelatório MDS Pop RuagersonlloboAinda não há avaliações
- Política Pública Rio de JaneiroDocumento164 páginasPolítica Pública Rio de Janeiroapi-3727421100% (4)
- Capital Social Pop Rua BHDocumento7 páginasCapital Social Pop Rua BHapi-3727421Ainda não há avaliações
- Gualda Pereira. Moda PDFDocumento63 páginasGualda Pereira. Moda PDFLuisFernandezalfredoAinda não há avaliações
- Descartáveis UrbanosDocumento14 páginasDescartáveis UrbanosFrancisco BorgesAinda não há avaliações
- Um Delicado Equilíbrio Na Relação de AjudaDocumento1 páginaUm Delicado Equilíbrio Na Relação de Ajudaapi-3727421100% (1)
- David Bonh DiálogoDocumento30 páginasDavid Bonh Diálogoapi-3727421Ainda não há avaliações
- Feios Sujos e MalvadosDocumento23 páginasFeios Sujos e Malvadosapi-3727421100% (1)
- Mna809 - Medb - v2Documento11 páginasMna809 - Medb - v2Victor Hugo BarretoAinda não há avaliações
- Thiago L. v. Cavalcante TESE VFDocumento471 páginasThiago L. v. Cavalcante TESE VFDanielle NormanAinda não há avaliações
- Lei Organica CruzdasalmasDocumento118 páginasLei Organica CruzdasalmasAlexandra PassuelloAinda não há avaliações
- Revisão Lei Penal No EspaçoDocumento13 páginasRevisão Lei Penal No EspaçoJust a friendAinda não há avaliações
- Aposentadoria EspecialDocumento68 páginasAposentadoria EspecialGustavo Brito Beltrame0% (1)
- Franz Boas, Mead e BenedictDocumento3 páginasFranz Boas, Mead e BenedictEduardo Do Socorro Pereira da SilvaAinda não há avaliações
- Conflitos Organizacionais À Luz Da Teoria Geral Dos Sistemas PDFDocumento17 páginasConflitos Organizacionais À Luz Da Teoria Geral Dos Sistemas PDFdeborabastoss3670Ainda não há avaliações
- A Resetação EDHDocumento4 páginasA Resetação EDHMaíra SousaAinda não há avaliações
- Aula Cap 2 - A Produção e Disseminação Das Estatísticas PúblicasDocumento38 páginasAula Cap 2 - A Produção e Disseminação Das Estatísticas PúblicasRené Batista Almeida0% (1)
- Atividades - Oficina É Preciso Ser AntirracistaDocumento3 páginasAtividades - Oficina É Preciso Ser AntirracistaFrank CasadioAinda não há avaliações
- Padrao de Qualidade Dos Cursos de Graduacao em Fisioterapia No Contexto Do Sistema Nacional de Avaliacao Da Educacao Superior - SINAESDocumento7 páginasPadrao de Qualidade Dos Cursos de Graduacao em Fisioterapia No Contexto Do Sistema Nacional de Avaliacao Da Educacao Superior - SINAESHenrique SaldanhaAinda não há avaliações
- Fichamento: WEBER, Max - A Política Como Vocação - Pag 55-74Documento8 páginasFichamento: WEBER, Max - A Política Como Vocação - Pag 55-74Giulia Louise de MeloAinda não há avaliações
- Meios de Defesa Da PosseDocumento11 páginasMeios de Defesa Da PosseGil Cambule100% (4)
- Trabalho de EmcDocumento22 páginasTrabalho de EmcRagedpokoyoシ100% (1)
- UntitledDocumento133 páginasUntitledShara AlmeidaAinda não há avaliações
- Adorno Rodrigo Duarte Sobre Indústria CulturalDocumento11 páginasAdorno Rodrigo Duarte Sobre Indústria CulturalKerol BomfimAinda não há avaliações
- DDDDDDDDDDDDDocumento2 páginasDDDDDDDDDDDDcarlos de sousaAinda não há avaliações
- 50 Pensadores Que Formaram o Mu - Stephen TrombleyDocumento184 páginas50 Pensadores Que Formaram o Mu - Stephen TrombleyRosane FerreiraAinda não há avaliações
- NacionalidadeDocumento12 páginasNacionalidadeRaquel SilvaAinda não há avaliações
- Diná Almeida - Ação de Investigação Judicial EleitoralDocumento7 páginasDiná Almeida - Ação de Investigação Judicial EleitoralNE NotíciasAinda não há avaliações
- Da Lama Ao Caos Diversidade, e Identidade Cultural Na Cena Mangue Do RecifeDocumento29 páginasDa Lama Ao Caos Diversidade, e Identidade Cultural Na Cena Mangue Do RecifeElder Fabiano da SilvaAinda não há avaliações
- Classificação Das Receitas PúblicasDocumento4 páginasClassificação Das Receitas PúblicasKleiton Silveira de CastroAinda não há avaliações
- Correio Braziliense 2014 TabelaCompletaDocumento160 páginasCorreio Braziliense 2014 TabelaCompletaAndreySakarovskAinda não há avaliações
- Norma Técnica Compesa NPE-002Documento6 páginasNorma Técnica Compesa NPE-002Thiago AiresAinda não há avaliações
- Colin Darch (2018) - Uma Historia de Sucesso Que Correu Mal O Conflito Mocambicano e o Processo de Paz PDFDocumento29 páginasColin Darch (2018) - Uma Historia de Sucesso Que Correu Mal O Conflito Mocambicano e o Processo de Paz PDFgoodyfryclaudinoAinda não há avaliações
- 1.º Mini-Teste-Grelha de Correção - 2019 - 20Documento4 páginas1.º Mini-Teste-Grelha de Correção - 2019 - 20beatriz silvaAinda não há avaliações
- Limites - PARTE 1Documento8 páginasLimites - PARTE 1Denis CarvalhoAinda não há avaliações